



Biblio VT




Alguns leitores têm objetado a algumas histórias que publicamos, argumentando que se trata de “fantasia”. Muitos outros, porém, são inteiramente a favor de que publiquemos contos de fantasia, contanto que sejam de boa qualidade.
Esta é uma das diferenças entre o que posso chamar de “exclusivistas” e “inclusivistas”. Exclusivistas são aquelas pessoas que têm uma definição precisa do que é a ficção científica e se aborrecem quando encontram em nossa revista uma história que não satisfaça a essa definição. Estão dispostos, em outras palavras, a deixar de fora as histórias consideradas marginais.
Uma vez dito isso, fica bastante claro o que é um inclusivista, não fica? Os inclusivistas são aqueles que, ou não têm uma definição precisa, ou têm uma definição mas não a levam muito a sério. Em ambos os casos, os inclusivistas aceitam trabalhos de todos os tipos.
Eu, pessoalmente, me considero um exclusivista como autor e, até certo ponto, também como leitor. A ficção científica que escrevo é quase toda do tipo “hard”: trata de ciência e de cientistas e deixa de lado a violência gratuita, a vulgaridade desnecessária e temas desagradáveis. Não há nenhuma razão filosófica para que seja assim; simplesmente está de acordo com a minha maneira de ser. Como leitor, tendo a apreciar o tipo de ficção científica que escrevo e a dedicar uma atenção muito menor a outros tipos de literatura.
Como diretores editoriais, porém, Shawna e eu somos inclusivistas, como não poderíamos deixar de ser. Não podemos partir da premissa de que todos os leitores têm exatamente o mesmo gosto que nós. Se insistíssemos em atender apenas aos que se enquadram nessa categoria, o número de leitores seria insuficiente para garantir a sobrevivência da nossa revista. Em lugar de agradar a x pessoas cem por cento do tempo, é mais seguro agradar a 10x pessoas noventa por cento do tempo.
Assim, quando encontramos uma história interessante e bem escrita que talvez seja considerada como fantasia pelos exclusivistas, nos sentimos fortemente tentados a publicá-la — especialmente se não dispomos no momento de histórias de ficção científica “de verdade” que atinjam o mesmo nível de qualidade.
(Neste ponto, cabe observar, o que não faço pela primeira vez, que estamos à mercê dos autores e das circunstâncias para planejar cada número desta revista. Os leitores às vezes parecem pensar que temos a intenção deliberada, por motivos inconfessáveis, de encher a revista de noveletas e deixar de lado os contos, ou de publicar várias histórias sobre o mesmo tema, ou de in-cluir muitas histórias narradas na primeira pessoa. O problema é que se vários meses se passam sem que apareça nenhuma boa história humorística, ou narrada na terceira pessoa, ou com menos de dez páginas, nosso estoque desse tipo particular de história acaba se esgotando. Não podemos publicar histórias de má qualidade só porque são humorísticas, ou curtas, ou o que seja. Isto também se aplica aos leitores que nos criticam por não publicarmos nesta revista histórias de fulano ou sicrano. Ado-raríamos publicar essas histórias, mas para isso é preciso que o autor em questão as envie à nossa revista. Não se esqueçam disso, por favor.)
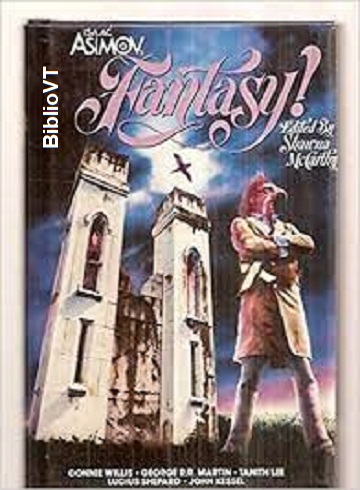
Vamos voltar a fantasia. Fantasia vem do grego “phantasia”, que quer dizer imaginação. Em um sentido geral, todas as obras de ficção (e muitas de não-ficção) podem ser consideradas como fantasia, já que foram criadas com o auxílio da imaginação. Em nossa perspectiva, porém, atribuímos à palavra um sentido mais restrito. Não é o enredo de uma história que a faz uma obra de fantasia, por mais imaginoso que seja: o que conta é o cenário em que ocorre a ação.
O enredo de “Nicholas Nickleby”, por exemplo, é totalmente imaginário. Os personagens e acontecimentos existiram apenas na imaginação de Charles Dickens, mas o cenário é a Inglaterra na década de 1830, sem tirar nem pôr (a não ser por uma pequena dose de sátira amistosa, ou, em alguns casos, inamistosa). Isso é o que chamamos de ficção realista. (Podemos usar o termo mesmo quando o cenário é melhorado artificialmente. Os caubóis na vida real sempre foram sujos e malcheirosos, mas ninguém jamais pensaria assim ao olhar para Gene Autry ou Randolph Scott.)
Por outro lado, se o cenário não corresponde a nenhuma situação real (no presente ou no passado), temos o que é chamado de “ficção imaginativa”. A ficção científica e a fantasia são dois exemplos de ficção imaginativa.
Quando o cenário que não existe é algo que poderia existir um dia, dadas certas condições científicas e tecnológicas, ou dadas certas suposições que não entrem em conflito com a ciência e a tecnologia como as conhecemos nos dias de hoje, temos uma obra de ficção científica.
Quando o cenário que não existe não pode existir jamais, quaisquer que sejam as mudanças ou hipóteses razoáveis que formulemos, então se trata de uma obra de fantasia.
Para dar exemplos concretos, a série da Fundação é uma obra de ficção científica, enquanto que O Senhor dos Anéis é fantasia.
Em geral, espaçonaves e robôs pertencem à ficção científica, enquanto que fadas e duendes pertencem à fantasia.
Entretanto, existem vários tipos de fantasia. Há a “fantasia heróica”, na qual os personagens são mais poderosos que na vida real. Neste caso, os poderes dos personagens podem chegar às raias do absurdo, como acontece com o Super-Homem e outros super-heróis. Ou eles podem ser tão humanos sob vários aspectos que o leitor acaba por aceitá-los como se fossem reais, como no caso dos duendes da obra-prima de Tolkien. As chamadas histórias de “espada e bruxaria”, que começaram com a saga de Conan, de autoria de Robert E. Howard, são uma subdivisão deste gênero.
Existe a “fantasia legendária”, que imita deliberadamente os mitos do passado. Podemos ter versões modernas da Guerra de Tróia, da viagem dos Argonautas, da saga do Anel dos Nibelungos ou do Rei Artur e seus Cavaleiros da Távola Redonda. Um magnífico exemplo deste gênero é As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley.
Há também a “fantasia infantil”, da qual os chamados “contos de fadas” constituem os melhores exemplos, embora inicialmente essas histórias se destinassem ao público adulto. Os exemplos mais modernos podem ir desde a loucura inspirada de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, até o realismo das histórias do Dr. Dolittle, de Hugh Lofting (tão realistas, na verdade, que quase nos esquecemos de que os animais que falam e pensam como humanos são seres imaginários).
Existe a “fantasia de terror”, na qual histórias de fantasmas e seres malvados, como demônios, ogros e monstros são usados para nos assustar. Há muitos filmes do gênero, desde a imponência trágica de King Kong e Frankenstein até o ridículo bem-humorado de um Godzilla.
Temos ainda a “fantasia satírica”, como as maravilhosas histórias de John Colher (quem não adorou “O Demônio, George e Rosie”?). Este é, francamente, meu tipo preferido de fantasia.
Pode haver outros tipos, cada um com várias subdivisões.
Na verdade, seria possível adotar um sistema de classificação totalmente diverso. O importante, porém, é que a fantasia é um campo muito vasto e heterogêneo da literatura, e em cada variedade podemos encontrar obras que vão desde as muito boas até as muito ruins. É claro que nos sentimos tentados a publicar as muito boas. Afinal, a fantasia, como a ficção científica, é literatura imaginativa, e existem ocasiões em que isso pode ser usado como desculpa para nossa falta de exclusividade.
Na verdade, não é preciso muito para passar de fantasia para ficção científica, especialmente se se trata de um autor experiente. Eu, pessoalmente, raramente escrevo obras de fantasia, mas quando o faço, tendo a me inspirar no estilo de Collier.
Comecei a escrever minha série de histórias sobre Azazel na forma de pura fantasia. Escolhi este gênero porque me permitia mais liberdade para exagerar no estilo e no conteúdo, compondo sátiras do tipo comédia pastelão. Minha ficção científica está livre desses exageros, que de vez em quando sinto vontade de perpetrar (afinal, sou humano).
Vendi duas histórias a uma revista rival, e Shawna McCarthy, que na época era a editora desta revista, veio se queixar comigo.
— Mas são fantasias — expliquei —, e não costumamos publicar histórias de fantasia.
— Então trate de transformá-las em ficção científica — recomendou Shawna.
Foi o que fiz. Azazel não é mais o demônio que era no começo: hoje em dia, é um ser extraterrestre. No início, eu havia estabelecido que ele tinha sido trazido para a Terra com o auxílio de algum tipo de magia. Mas nunca cheguei a descrever tal coisa.
Ainda não abordei o assunto, mas o leitor pode muito bem supor que ele chega a nós através de uma ruptura espacial.
O que ele faz não é mais pura magia. Tento descrever suas proezas em termos científicos. O resultado são histórias de ficção científica, se bem que não muito “hard”.
Pode ser que alguns de vocês achem as histórias de Azazel próximas demais da “fantasia”, mas vou continuar a escrevê-las e torcer para que Shawna continue a comprá-las, porque gosto muito delas. Um dia, pretendo reuni-las em um livro.
NOS MISTUREM, NOS SACUDAM – David Sandner
Você e eu fomos feitos (como artefatos de vidro ou cerâmica) de duas células, formados em tubos de ensaio com água (acrescentar temperos e assar até dourar) até nos tornarmos você e eu.
Quero que esses fabricantes nos tomem de novo, e, querida; que eles nos misturem e sacudam, — que transplantem uma parte de mim para o coração de você (já está feito, já está feito) — que nos fatiem, nos emendem, nos rasguem, nos colem, nos moldem de novo em você e eu.
Para que em mim haja pedaços de você e em você, pedaços de mim.
Assim, nada jamais poderá nos separar.
David Sandner
RESENHA – Orson Scott Card em Dose Dupla
ROBERTO DE SOUSA CAUSO
“Este é o sujeito a quem Asimov chamou de ‘o maior fenômeno de popularidade na FC, seja com leitores ou críticos, desde Robert Heinlein em seu auge, quarenta anos atrás’.”
O SEGREDO DO ABISMO
O Segredo do Abismo é um filme incompreendido. Alguns o consideram uma obra maiúscula pela beleza de suas imagens, outros uma amálgama pouco efetiva dos gêneros catástrofe, romance, technothriller e FC, não entendendo que a ficção científica pode ser tudo isso e mais, sem se descaracterizar (ha, alias, uma equação para isso, que é ultrajante para muitos: FC C literatura, tanto quanto o inverso).
Novelizações de filmes normalmente são consideradas como parte do mais baixo nível a que um autor pode descer.
Procurando inverter essa noção, o diretor James Cameron ( O Exterminador do Futuro, Aliens — O Resgate) incumbiu um dos melhores autores de FC, Orson Scott Card ( O Jogo do Exterminador, Orador dos Mortos), de produzir uma novelização que fosse também um romance efetivo. Card aceitou a tarefa como um desafio. A história começa com um submarino nuclear da classe Ohio chocando-se contra a Barreira do Caimã, uma fenda submarina próxima de Cuba e da costa da Flórida.
Uma equipe SEAL (aqueles caras da marinha que foram chamados de os mais durões das tropas de elite que lutaram no Vietnã) é deslocada para efetuar o resgate, sob o comando do tenente Coffey. Normalmente os SEAL — que topam qualquer negócio — usariam um submersível projetado para esses casos, mas o furacão Frederick sopra sobre o local do naufrágio, forçando-os a improvisar o uso de uma plataforma submarina, a Deepcore. Isso não agrada nem o chefe de operações Virgil “Bud” Brigman nem a engenheira Lindsey, que projetou a Deepcore e é esposa de Bud.
As coisas não vão bem entre os dois — estão à beira do divórcio. Mas esse é o menor de seus problemas. As situações desenrolam-se marcadas pela tensão, pelo medo, pela magia e pelo mistério. Há algo mais no Caimã além deles e do submarino sinistrado. Uma raça de aliens vivendo no fundo do abismo, comunicando-se por sondas moleculares capazes de tocar as mentes uns dos outros e dos humanos. Porém eles não conseguem nos compreender ou se comunicar.
Card fez um bom trabalho de eliminação das fatais gratuidades do filme e um trabalho melhor ainda de caracterização dos alienígenas. Mas ele foi além na elaboração dos personagens, dando-lhes uma carga de experiências passadas que irão se entroncar na situação-limite que vivem no fundo do oceano. Ele tornou-os tão tangíveis quanto a esmerada (e não relevada pelos críticos) atuação dos atores no filme, mas muito mais humanos do que a película seria capaz de traduzir. E os fez seus, não apenas uma transposição seca do que se vê na tela.
Card conseguiu incorporar esta novelização ao corpo principal de sua obra. Aqui estão os personagens influenciados fortemente por suas vidas familiares, carregando suas cargas íntimas que o autor vai nos revelando e interpretando em claros insights sobre a natureza humana. Aqui está a necessidade de entendimento entre os indivíduos, magnificada pela necessidade de entendimento entre os homens e o povo dos Arquitetos, os seres do abismo. Há, em especial, uma linha que traduz a proposta básica da obra de Card, e que se funde com um dos potenciais maiores da ficção científica: “Ela o admira. Quer conhecê-lo e compreendê-lo. Quando observa sem medo, ela pode amar.”
O potencial harmonizador, quando a FC nos apresenta, explica-nos e faz-nos próximos do Estranho, do Estrangeiro, do Alienígena.
E a prosa de Card é simples assim, porém com uma elevada carga de emoção e de idéias. Algumas descrições e passagens são simples demais, especialmente aquelas nas seqüências mais visuais, como se o autor as deixasse para o potencial da tela resolver. No todo, porém, o livro é a realização que Card e Cameron pretendiam, capaz de expandir os horizontes do filme e, igualmente, expandido por este.
(O posfácio de Card é importante para nós, pretendentes a autores de FC, pois mostra que o melhor work-shop para o escritor é ainda a observação das pessoas. O posfácio inclui também a melhor resenha da atuação dos atores publicada no Brasil.) “Veja o filme e leia o livro” adquire aqui uma conotação mais forte, o que me leva à única coisa negativa sobre este lançamento da Record: ele veio muito após o filme ter deixado os grandes circuitos.
Mas não desista. Procure nos jornais a programação dos cinemas do interior, aqueles em que um filme só passa seis ou oito meses depois de exibido nas capitais. E se o encontrar não hesite.Vai valer a pena.
Orson Scott Card, O Segredo do Abismo/ The Abyss, baseado no roteiro de James Cameron. Tradução de Eduardo Francisco Alves. Editora Record, 1990, 336 págs.
O JOGO DO EXTERMINADOR
Coincidentemente, este multipremiado romance trata também da submissão da índole do herói, Andrew “Ender” Wiggin, diante das exigências de uma humanidade ameaçada por uma espécie alienígena, os insecta (buggers, no original).
Ender é um menino-prodígio que é levado aos seis anos para a Academia Espacial, com o objetivo de ser treinado para se tornar o gênio estrategista que comandará a frota da Terra no terceiro e decisivo confronto. Adestrando-se nos brilhantemente caracterizados jogos de guerra em queda livre que compõem o principal exercício dos treinamentos, Ender é forçado pelos comandantes da escola a suplantar-se seguidamente, vencendo tanto a inépcia quanto a inércia inerentes ao meio militar, mas brutalizando-se no processo.
Ele tem dois irmãos: Peter, igualmente brilhante mas de índole perversa, e Valentine, que simboliza o que ele tem de melhor. Ambos estão na Terra, mas não inativos. Crianças super-dotadas, penetram na rede mundial de informações e acabam por se tornarem influentes observadores políticos ocultos sob os pseudônimos de Locke e Demóstenes. Peter força Valentine a atuar como um incisivo membro da direita, enquanto ele próprio adota um discurso conciliador.
Ender gasta seu tempo ocioso com o jogo da Bebida do Gigante, um exercício de autoflagelação onde, com o auxílio do computador da Academia Espacial, debate-se com sua metáfora íntima envolvendo os dois pólos de si mesmo representados pelos irmãos. Card é conhecido por sua cruzada pela clareza no texto literário, mas aqui ele conseguiu o sofisticado quase-milagre de tornar verossímil o recurso metafísico.
Já foi dito que o mal do gênero ficção científica é que ele tende a se esgotar no instante em que o leitor desvenda a analogia que a história propõe. Não importa que a analogia seja a explosão da luz do entendimento na penumbra formada pela complexidade da vida humana. Contudo, aqui, as sutilezas técnicas do ato de escrever marcam forte presença e há uma profundidade de interpretações, um poço de analogias e metáforas que evidencia a força da ficção científica.
O livro disseca a realidade do meio militar, mas existe aí uma analogia que se estende às relações humanas como um todo. A forma como o indivíduo que porta a mudança é estigmatizado pelos que subsistem do sistema estagnado. O processo de enrijecimento interior em nome das exigências da comunidade.
E, principalmente, a maneira trágica em que se é obrigado a agir contra as próprias convicções, a forma com que pessoas boas e ruins, pelas circunstâncias, acabam realizando atos contrários às suas índoles.
Reforçando estes grandes temas, estão os personagens infantis, se nos lembrarmos o quanto o espírito infantil é apto a cristalizar comportamentos diversos, diante de solicitações diversas.O final expõe a proposta básica de Scott Card, quando Ender descobre a verdadeira natureza dos insecta e reflete que, quando conhecemos alguém em profundidade, este se nos afigura mais humano. Inversamente, quando desconhecemos, mesmo sendo um de nossos semelhantes, ele nos parecerá inumano.
A redenção espera por Ender no final, quando ele revela a verdade, tornando-se o primeiro Orador dos Mortos. Essa promessa de redenção seria desenvolvida na também premiada seqüência, Orador dos Mortos.
O Jogo do Exterminador testemunha ao público brasileiro o talento de um dos mais importantes autores americanos dos anos oitenta, num de seus trabalhos mais significativos, que transporta as profundas e trágicas indagações que caracterizam a melhor literatura, sem descaracterizar a clareza e os elementos e convenções da ficção científica, elevando o gênero ao justo patamar de Arte Maior.
A edição da Zenith traz ilustrações internas, uma matéria sobre o autor e verbetes de ciência-fato elucidando alguns dos temas técnicos abordados no romance, numa louvável tentativa de educar o leitor brasileiro, normalmente pouco afeito aos rigo-res científicos.
Há notícias de que as seqüências e outros livros de Card virão em breve pela mesma editora. Confira.
Orson Scott Card, O Jogo do Exterminador/Ender’s Game. Tradução de Norberto de Paula Lima. Editora Aleph, 1990, 352 págs.
21
Olhando para trás — até onde os mortos podem olhar para trás — é difícil
A TERRA AGE TAL COMO UMA SERPENTE RENASCIDA – James Tiptree Jr.
Para descobrir como P. veio a acreditar que a Terra era macho. Primeiro podemos vê-la como uma menina solitária que tinha o hábito de tirar as roupas na floresta. A floresta pertencia à sua família, e desde seu primeiro verão P. compreendeu que aquela floresta era mágica, ou seja, real. A cidade, ela sabia, não era real. Talvez por causa dos muitos canos enterrados e fios; certamente por causa das muitas pessoas. Para P., os invernos passados na cidade não contavam.
O que contava eram seus meses de passeios solitários pela floresta exoticamente senil, deitando-se nua sobre terra, raízes, rochas e musgo, em silenciosa harmonia com uma profunda Presença que ela identificava inquestionavelmente como masculina.
Como aquela menininha definia masculinidade? Ora, ela sabia que era alguma coisa diferente do pai, claro que era! Ela sentia... ela sentia-se em contato com uma coisa grande e rígida à qual ela pertencia de uma maneira bem longe de ser infantil, e que tinha para com ela uma intenção incerta, lenta e enorme.
Se tivesse contado à sua família, seu erudito tio consideraria isso uma distorção do mito de Anteu, por exemplo, ou de Atlas, que ele havia lhe contado. Seu tio gordo e seu tio gênio poriam a culpa em suas glândulas infantis. Uma Terra masculina?
Sua bela mãe teria gargalhado sonoramente, como um rouxinol; ela tinha talentos inusitados, e sabia que a Terra era uma bola de pedra habitada por (a) babuínos e (b) literatura inglesa.
Somente o pai de P. poderia ter levantado os olhos de seu trabalho de manter todo o dinheiro da família gerando lucros e dito — hein? Ele era um picto magro, de olhos violáceos que ainda se lembravam dos massacres viquingues. Na verdade, ele tinha uma parcela de culpa pelo problema de P.
Um dia, quando P. tinha dez anos de idade, ele teve um acesso de gargalhadas e chamou-a para ver os pés de Mutinus caninus atrás da garagem. Era um lugar cheio de plantas que P. normalmente evitava porque sabia que era o mictório não-oficial dos cavalheiros.
Seu pai apontou, P. olhou. Despontando do musgo em frente ao seu nariz havia vinte pequenos pênis de cachorro, surpreendentemente rosados. Pareciam de verdade; o menor podia ser de um yorkshire, o maior de um dálmata. Cada glande cor-de-rosa estava coberta por um líquido ocre, visivelmente bem-sucedido em seu objetivo de atrair moscas varejeiras.
— Todo ano eles aparecem — seu pai balançou a cabeça. — Não são estranhos? São cogumelos. Nunca contei para sua mãe. P. ficou calada ante aquela evocação vinda do barro antigo. Desde aquele dia, a Terra para ela era explicitamente ELE.
De forma surpreendente, P. já estava familiarizada — na verdade, graças à família que tinha, mais do que familiarizada — com o mito da Terra fêmea. Fora-lhe ensinado que os gregos, os druidas e os godos viam a Terra como ELA, como Gaia ou Freia: um corpo de mulher para ser arado, semeado, “amaridado” pelo homem. Ela aprendera que várias tribos indígenas também acreditavam nisso, e que até mesmo o imenso bloco chinês sustentava firmemente que a Terra era fêmea: escura, úmida, passiva, yin. As velhas corujas da ciência confirmavam: a Terra era claramente Terra Mater, o ventre do qual evoluíram proteínas e pterodáctilos, germes e generais, ela e o time dos Green Bay Packers.
Tudo isso nunca preocupou P. Para ela, essas pessoas estavam falando de outro planeta. A “terra” deles podia ser fêmea ou uma geladeira, o que importava? O TERRA, sua Terra, era macho. Cada célula de seu corpinho sabia disso. Ela vivia e era conduzida através do espaço estelar por um ser que era um macho funcional. E ela também sabia que, de qualquer forma que essa função viesse a se definir, seu nome seria Amor.
De fato o amor entre P. e ELE, o Terra, era tão profundo que ela o mantinha em um perfeito silêncio, assim como um peixe sustenta suas convicções a respeito da água.
Função, como sempre, seguindo a forma, houve um verão em que P. subitamente cresceu e se admirou com um estranho calor que subia de suas pernas. Convidou Hadley Morton para sua floresta.
Hadley atraíra a sua atenção durante o inverno irreal na escola por ficar passando a mão, todo animado, em suas zonas erógenas. Ela sentia que ele seria um iniciador adequado e, a floresta, um lugar apropriado. E Hadley provou ser uma escolha inteligente. Em público, era calmo e educado; em particular, prodigamente erétil. Lá pela terceira semana tinham conseguido consagrar não apenas sua própria floresta como vários acres do Parque Nacional das Terras do Norte, que ficava ao lado.
Foi então que aconteceu o primeiro evento real da vida de P.
Haviam passado a tarde no topo de um pedregulho arredondado que uma glaciação havia abandonado à beira de um lago sem nome. Aquela pedra fora um refúgio especial da infância de P. Agora, nela sentada, com um ar de estupor, sentindo Hadley secando sobre suas pernas, olhava por sobre os colmos dourados para ver se o tempo havia provocado mudanças na paisagem.
O verão terminava diante de seus olhos. Luzes esverdeadas morriam por entre as árvores desalinhadas e a primeira grande luz do outono surgiu. Um esquilo parou de comer uma pinha e decidiu enterrá-la. O coração do ar ficou resfriado; uma seta invisível vinda do norte cruzou o céu, deixando-o com um azul mais intenso — um corvo grasnou — e era outono.
Vendo isso, P. se sentiu perdida, como no momento antes de descobrir que havia perdido todos os cartões de crédito. Olhou para baixo. Hadley cochilava no colchão de folhas, seu torso perfeito aquecendo-se ao sol, os joelhos um pouco ralados.
— Vá embora, Hadley — ela disse sem querer.
— Hã?
— Eu disse: vamos embora. Está ficando tarde. Concordando sempre, ele vestiu seus shorts finlandeses, desceram do pedregulho e voltaram pelas trilhas suaves abertas pelos cervos.
P. sentia um frenesi incontrolável, e cada vez maior, de se livrar dele, mas não havia jeito. Ela correu à sua frente, tentando sentir o que quer que estivesse se desenrolando ao redor de ambos.
Hadley alcançou-a alegre, assoviando Greensleeves. P. decidiu andar atrás dele, olhando à esquerda e à direita, para cima e para a frente. Uma ninhada de perdizes jazia congelada aos seus pés. — Bonito, hein? — comentou Hadley. No brejo, duas corças levantaram os olhos para eles de forma estranha. — Aquela é você — Hadley apontou. — Só que a sua bundinha é bem melhor. — P. sentiu um toque de medo.
Naquele momento chegaram a uma margem escura oculta por velhos abetos que lentamente sobreviviam aos brilhantes descendentes que agora apodreciam sob seus pés. Entre os corredores escuros P. viu um estranho bastão branco. Correu para apanhá-lo.
Hadley voltou-se para encontrá-la segurando um grande, branco e ereto falo humano, cheio de veias e a cabeça arredondada, reproduzido fielmente. Tinha o tamanho do antebraço dela, e terminava num único e grande testículo enrugado.
— Como foi que isso chegou aqui? — Hadley franziu a testa e olhou em volta para ver se achava algum brutal vendedor de sex-shop.
— É um cogumelo — P. resmungou, de má vontade. — Um não-sei-o-quê impudicus. Não sabia que ficavam tão grandes.
Hadley olhou o cogumelo sem acreditar.
— Puxa, isso é muito velho. Perdeu a cor toda.
Parecia de fato um lençol de fantasma; frágil, quase transparente.
— O popular Stinkhorn. Há outros tipos. — P. tentava rir, enquanto o largava de volta na lama e prosseguiam. Mas não como antes.
Agora ela sabia. Tristeza. Reprovação naquela ereção espectral da Terra. Aquele falo triste lhe dizia que havia cometido traição. ELE havia esperado mais dela, ali em SUA floresta sagrada. Levar um Hadley ali era imperdoável..
Os olhos se toldaram mortificados enquanto ela observava os shorts bem recheados de Hadley. Mas, por dentro, ela fervilhava de excitação. ELE havia falado! ELE havia lhe enviado o primeiro sinal de amor!
Hadley precisava partir: para seu alívio, Hadley já estava dizendo-lhe que devia ir embora pela manhã. O encontro com o surpreendente fungo devia tê-lo afetado também, ela pensou, como o babuíno filhote que sente o olhar de um mais velho sobre ele e se afasta.
Assim que o barulho do motor do Corvette cor de pêssego dele sumiu na distância, P. correu de volta à floresta de abetos. Os Falóides tinham sumido. Tirou a roupa e caiu de bruços sobre a terra escura, enviando uma onda de sentimentos para baixo, para ELE. Nenhuma resposta. As profundezas abaixo dela estavam mudas. P. suspirou; aprendera que o macho ofendido costuma ficar emburrado. Mas por que SUA reprovação fora tão retardada? Por que ELE não a avisara antes, em vez de depois da demonstração de capacidade por parte de Hadley? Nenhuma resposta. Bem, o macho (ela também sabia) costumava ser um pouco lento. Ou talvez ELE tivesse outros assuntos para resolver? Este pensamento a humilhou; ela começou a pensar seriamente, pela primeira vez em sua vida. O que pensou então — e assim pela maior parte da sua curta vida — foi uma simples pergunta. Tal como o índio que se apaixonou pela sereia ela se perguntou: como?
Como? Como ELE viria até ela? Como deveria se oferecer a ELE? Que ELE — o Terra — a reclamaria fisicamente, P. jamais duvidou. Ela também já tinha por garantido, com apenas dezesseis anos, que SEU amor a satisfaria de maneira suprema, temperado com um pouquinho de excitante desconforto. Carícias, penetração, clímax: um Hadley divinamente ampliado preenchia seus sonhos de adolescente. Sua fé era perfeita: não considerava por um momento a hipótese de, digamos, ser penetrada por estalagmites ou acariciada por uma avalanche. Não, ELE viria encarnado, como Zeus cavalgando Europa. Ou talvez a chuva de ouro que banhou Danaé? P. franziu a testa: o ouro parecia um método insatisfatório. Certamente ELE faria melhor. Mas como?
E quando e onde?
Assim começou o primeiro estágio da busca de P., o inocente convite de Terra para suas partes femininas núbeis.
Mas e quanto aos longos meses de inverno, quando ela vivia em escolas urbanas encapsuladas pela humanidade? Curiosamente, essas interrupções da vida real não a aborreciam. Eram apenas longos sonhos; P. hibernava em si mesma, distraindo-se em aprender os nomes dos reis de França ou os rituais dos triângulos. Não se apercebia de que se tornara muito bonita, e mal tomava consciência do fato de que estava se tornando muito rica, devido à persistente mortalidade de seus parentes endinheirados. Quando tudo isso a tornou um foco de disputas eróticas, ela reagiu com sua costumeira entrega sonhadora. Ela se sentia bem, livre em seu destino nessas triviais cenas humanas, e o efeito educacional podia ser benéfico.
Seus amantes humanos ficavam às vezes desconcertados com alguns dos raros momentos de intensidade sexual de P. ...que não duravam mais que uma noite. Como eles poderiam saber que ela havia imaginado a aura DELE num par de coxas musculosas ou num rosto rude de camponês? Uma garota de menos posses poderia ser considerada esquizóide; mas ela, com uma renda que aumentava cada vez mais, veio a ser conhecida apenas como uma garota deliciosamente avoada. Esse diagnóstico foi confirmado quando um iate que levava todos os primos de sua mãe, donos de grandes propriedades, afundou nas Bahamas deixando-a como a única herdeira.
Mas os verões — ah, os verões da vida real, quando ela caminhava em sua busca solitária por ELE! Onde ELE viria até ela? Aqui? Ali? P. deitava-se nua e meio hipnotizada em leitos folhosos de cervos; espreguiçava-se sonhadora sobre samambaias aquecidas pelo sol; chegava até mesmo a encolher-se dentro da caverna um tanto fedorenta de algum animal. Uma vez se deitou tremendo à luz azul de uma primeira neve. Venha para mim, amor, venha para mim, ela chamava em silêncio, enviando suas feromonas jovens com o fervor de uma mariposa agonizante ao redor da lâmpada.
E coisas aconteciam — ou quase. Uma vez, cochilando sobre um tronco às margens ensolaradas de um lago, sentindo o calor tostar levemente suas pernas abertas, uma sombra a cobriu. Não ousou abrir os olhos; terrivelmente excitada, sentiu enormes mãos tomando forma sobre ela. E então... quadris fortes pareciam estar partindo os dela. Louca para recebê-lo, ela arqueou o corpo, curvou-o... e justo quando a Presença a invadia...ela caiu do tronco.
Quando enxugou os olhos restava apenas o rumor das folhas dos amieiros onde alguma coisa grande e dourada poderia ter desaparecido.
Outro dia, deitada de bruços na pedra um dia profanada por Hadley, ela tornou a ouvir do norte o barulho do céu se rasgando e, no mesmo instante, a rocha abaixo de seu corpo ganhou vida. Uma corrente morna a invadiu, uma vasta vida pulsando em direção ao seu sexo. Ela se abriu, forçando o corpo contra a dureza da rocha, sentindo Alguma Coisa erguer-se radiante... só para afundar de volta ao nada, deixando-a sozinha, sem terminar o que começara.
Desapontamentos, mas que apenas confirmavam a fé de P. E sua busca por ELE começou a cobrir uma área mais extensa à medida que seu aprendizado se expandia por locais mais caros.
Ela teve grandes esperanças de um campo de narcisos nos Alpes franceses, vibrou com SUA proximidade numa ilha do mar Egeu.
Teve quase certeza DELE numa tarde nas ilhas Marquesas e sofreu terríveis queimaduras solares.
Mas foi tudo em vão, e a cada temporada de férias ela se desesperava mais, e mais ousada se tornava em suas ofertas.
Oh, amor, onde está você? , seu corpo pedia, sentindo-O ao redor, abaixo, em todo lugar, menos onde mais precisava. Você é ELE?
É VOCÊ, finalmente?, sua alma gritava para diversos camponeses errantes, que não acreditavam na sua sorte. No final dessa fase, suas experiências incluíram um relutante flautista aleijado e um pônei Shetland. Também houve o cansativo episódio com o carneiro Merino.
Tais extremos (ela depois percebeu) assinalaram o fim dessa fase. A maturidade estava rompendo sua crisálida infantil; estava pronta para um novo estágio.
Mas, antes, um interlúdio. Começou tragicamente: sua bela mãe estava a bordo de um avião da Aeronaves que se chocou nos rochedos do Popocatépetl. No funeral, P. ficou chocada ao ver a tristeza de seu pai. Os tios pareciam ter envelhecido.
Retornou triste ao apartamento em Bronxville e percebeu que estava ficando gripada.
Abrindo um vidro de comprimidos, pensou na ingênua crença da mãe de que Terra era uma bola de rochas sem vida e começou a chorar. Fragmentos das tagarelices organizadas que lhe ensinaram sob o nome de Psicologia passaram pela sua cabeça. Subitamente parou. Os comprimidos caíram no chão.
E se sua mãe estivesse certa?
A boca de P. abriu-se numa careta horrorizada. Toda a sua vida ela havia acreditado, amado sem questionar esse ser sobrenatural: ELE. O próprio Terra. De repente, pela primeira vez, a dúvida a consumiu. Seria possível que estivesse louca? Estaria sofrendo de alguma coisa como ilusão projetiva?
Aturdida, ela afundou na cadeira, lembrando-se de como seu tio gordo havia explicado e reiterado que Terra era matéria morta, governada por várias leis de movimento e inércia. Naquela época ela sorria sem dar bola para isso. Agora, a possibilidade a amendrontava. Será que o fundamento de sua vida estava errado? Seria Terra realmente apenas uma rocha morta sobre a qual ela, uma partícula biológica, projetava suas alucinações?
A noite toda ela lutou, chorando, contra o pesadelo, engolindo ampicilina sempre que a febre subia. A cada espirro a idéia desoladora parecia-lhe mais provável. Terra, seu amante? Com certeza enlouquecera. Como poderia ter sido tão idiota?
Na manhã seguinte convencera-se de que era seu dever desmantelar a estrutura de realidade que constituíra para sua vida, mesmo que isso a matasse. Terra não está vivo, ela se dizia cansada, com a cabeça num vaporizador. Ele não existe. Flutuando em alucinações antibióticas, repetia Terra não está vivo.
Preciso deixar de acreditar nisso.
Assim que abriu a segunda caixa de Kleenex, descobriu que o esforço estava se tornando mais fácil, na verdade quase divertido. Terra não está vivo, ela fungava, consciente de que, quando falava isso, um vasto EXISTO crepitava por baixo dela, palpável até mesmo através do ruidoso mundo do homem. Terra não está vivo: que brincadeira teimosa, feita de propósito para magoar a ELE! Terra não está... ora, era como a semana em que havia tentado acreditar no egoísmo absoluto, abrindo depressa seu armário a fim de apanhar os esquis no ato de reaparecer.
Terra... Com a última cápsula de amplo efeito essa nova fantasia de uma Terra inanimada havia tomado seu lugar entre algumas curiosidades, como a doutrina da perfeição da virgindade (ou era o contrário?), que um amante jesuíta tentara lhe ensinar certa vez. Com o primeiro prato de canja de galinha toda dúvida havia evaporado para sempre. Ela se levantou do sofá sentindo-se profundamente renovada e depois pensaria naquele final de semana como um momento em que positivamente procurara pontos de vista alternativos e os achou insatisfatórios.
Mas a experiência a havia modificado. Quando descobriu que toda a pedraria de sua mãe, na verdade, continha várias centenas de quilates em esmeraldas polidas, P. entendeu. ELE a sustentava. Era ELE quem, na verdade, estivera tomando conta dela todo o tempo. Todas aquelas mortes lamentáveis... ela via agora como elas foram estranhas. Naufrágios misteriosos, desastres naturais: SUA obra! Quão rude! (Mas quão gentil!) Começou a perceber a verdadeira enormidade de SEU ser, face a face com ela. Como fora absurda, imaginando que esse supremo princípio masculino pudesse encarnar num insignificante corpo humano!
Isso sem mencionar um carneiro Merino: estremeceu e ficou ruborizada, desviando a atenção do sócio júnior da firma de advogados onde acabava de entrar.
P. continuou andando até o escritório do sócio sênior, que a havia chamado para ler outro testamento. Cumprimentou-o distraída e sentou-se à janela, a mente distante. Agora eu tenho dezenove: sou uma mulher, disse a si mesma. Não sou mais uma simples garota. O pensamento a excitou. O amor de uma mulher era diferente; garotas apenas trepavam, enquanto as mulheres...não estava muito certa do que elas faziam, mas era algo mais complexo e profundo. Olhou para fora, para as águas cinzentas e corrosivas do lago Michigan, enquanto o advogado falava acerca de um pedaço de terra em Montana, onde um primo desconhecido havia morrido. Uma suspeita aflorou.
Talvez, até agora, ELE estivesse brincando! Estimulando-a com brinquedos, como a uma criança! Ficou novamente ruborizada, percebendo como a idéia que fazia do amor era ridícula.
Ora, agora estava crescida. Mas como poderia mostrar isso a ELE? Como poderia fazer com que ELE a levasse a sério?
Deu com os olhos numa brochura do Sierra Club, desviou-os para a neblina e as águas paradas do lado de fora da janela...e teve um assomo de inspiração.
P. sabia, é claro, da terrível destruição do ambiente pelas mãos do homem. Lera com atenção sobre as florestas violentadas, os animais chacinados, as montanhas evisceradas, os oceanos e o ar maculados. Mas para ela — e agora à sua disposição por um preço muito especial — aqueles males eram abstratos.
Ela não os via; seu dinheiro a levava aos mais remotos e intocados enclaves dos ricos. Quanto à floresta que possuía, seu pai há muito tempo comprara a companhia madeireira que estava transformando em celulose o Parque das Terras no Norte.
Agora P. percebia como fora cega.
Enquanto devaneava, o corpo DELE estava sendo envenenado, devastado, destruído! ELE estava em perigo, talvez até sofrendo, e ela não compreendia. Como fora extremamente infantil e ridícula! O que deveria fazer?
Voltou-se para o velho advogado e viu, como uma luz sobre sua cabeça, a resposta. Sua tarefa — sua missão como uma verdadeira mulher — era parar com a destruição. Ela iria salvar Terra! — Sim! — pensou alto.
O advogado levantou os olhos irritado.
— Eu não terminei.
P. suspirou e voltou-se para o lago. Subitamente, para seu prazer, ela percebeu um arco-íris se formando sobre as águas cor de chumbo. ELE a ouvira, ELE aprovava! Que bonito!
Esperou com paciência enquanto o advogado discorria sobre uma lista incompreensível de bens e investimentos que estava supervisionando. Ela ouvia apenas o suficiente para se certificar de que era realmente uma grande quantia em dinheiro; centenas de milhões, ao que parecia. Ótimo. Quando terminou, ela lançou para ele um olhar de grande beleza e exaltação.
— Sr. Finch, quero utilizar tudo isso para salvar a Terra da poluição. Quero começar já, neste minuto. O senhor conhece alguém que saiba o que todas essas organizações — e mostrou o boletim do Sierra Club — fazem? - E qual é a melhor para se dar dinheiro?
O Sr. Finch riu e recostou-se na cadeira segurando o peito.
Após curta espera, ele colocou um sócio júnior à sua disposição. E P. ingressou numa nova fase: A Cruzada.
Agora seria bom fazer uma pausa para observar o aspecto físico de P. quando ela entrou no cenário ecológico, cartões de crédito na mão e advogado a tiracolo.
O efeito geral era calmo, esbelto e caro. Sua voz era suave e ela a envolvia em tons monocórdios naturais de fumaça ou mel, neve ou salgueirinha ou codorniz. O olhar público tendia a passar por ela, preocupado apenas com a vaga sensação que seus zíperes estivessem mostrando. O olhar masculino que a pegasse por trás descobriria seus quadris ousados e elegantes, o pequeno peito de pombo. Subindo, o olhar encontrava um sorriso de feiticeira (herdado da mãe) e os olhos violeta do pai. Se os olhos se detivessem nela por muito tempo, receberiam uma comunicação mortal de alguma coisa parecida com virgindade lasciva. Após o que as outras mulheres adquiriam perturbadora semelhança com tocadoras de bumbo.
Seus amantes a tratavam por deusa, anjo e assim por diante. Hadley Morton dissera que parecia uma corça, e fez um comentário sobre sua bunda. Todos concordavam que ela tinha uma bunda extraordinária. Mas relaxada.
Esta, então, era a jovem exuberante que, vários meses depois, emergia do escritório-suíte do Clube de Roma, seguida pelo sócio júnior, que se chamava Reinhold. Reinhold fechou a porta sobre um coro de despedidas distintas e fez sinal para o chofer.
— Aeroporto. — Colocou-a dentro do táxi e reclinou-se.
Estava cansado.
— Reinhold — disse P., pensativa. — Quantas organizações temos agora?
— Quarenta e duas — respondeu Reinhold com seu pronunciado sotaque Chicago-anglo. — Sem contar dezesseis por confirmar, umas duas cartas de figurões e a lemuriana de Madagascar.
— Pensei que fosse mais fácil. Existem tantas ameaças diferentes.
— Simples toxinas químicas e variados venenos de ação direta — ele contava nos dedos. — Efeitos de potenciação, destruição mecânica mais erosão, produtos radioativos, mutagênese. Animais morrem, peixes morrem, pássaros morrem, insetos morrem, não há polinização: fome. Ou o plâncton morre, oceanos morrem: fome. Ou CO2, efeito estufa, oceanos sobem: enchentes e fome. Ou a mistura de nevoeiro, fumaça e monóxido de carbono que impede a radiação solar e inicia a era glacial: congelamento e fome. Ou toda a água fresca dos lagos torna-se eutrópica, por venenos anaeróbios: morte por sede. Ou as bactérias do solo são dizimadas: nada para comer. Ou a comida não dá para todos, a população cresce sem controle, explosão demográfica patológica: uma Bangladesh mundial. Ou falta de energia: guerra e fome.
Esqueci as pestes viróticas. Et coetera et coetera et coetera et coetera. Vejamos: tempo estimado para a destruição da biosfera ou outro ponto cujos danos são irreversíveis, mínimo de cinco a um máximo de cem anos, descontando a chance de holocausto nuclear.
Enquanto falava, ele se perguntava se dessa vez ela iria se lembrar de trepar com ele.
— Terrível, terrível — murmurou P. — É tudo muito pior do que eu pensava. — Ela suspirou, pensando em todos os pássaros e animais condenados, os belos familiares de Terra. SUAS obras de arte. Deve doer tanto para ELE.
— Isso não a afeta pessoalmente, querida — Reinhold disse com franqueza. — Por que você não constrói um ecossistema fechado numa redoma? Ora, com os seus recursos, você poderia construir um satélite orbital.
— Mas eu quero utilizar meus recursos para salvar Terra — repetiu ela pela centésima vez. Reinhold cerrou os dentes, esperando que Finch, Farbsberry, Koot e Trickle entendessem contra o que ele estava se opondo. Seu maior bloco de investimentos.
— Como, querida? — ele disse suavemente. — Um bilhão de ligações de trompas? Vasectomias grátis? Implantes anticoncepcionais? Pesquisa de fusão nuclear? Até mesmo o seu dinheiro não pode mudar cinco bilhões de cabeças. Ou comprar todos os governos.
— É tão complicado — ela abraçou sensualmente os próprios ombros, olhando para ele com tristes poças lilases. — Reinhold... você sabe em que estou pensando?
— O quê, amor? — ele se imaginou atirando-se por cima dela e cruzou as pernas.
— Mesmo que eu pudesse fazer isso tudo, fazer qualquer coisa... Não acho que fosse dar certo.
Ele estava maravilhado.
— Todos sabem muito mais que eu. Eu sou terrivelmente ignorante, sei disso agora. Tenho essa sensação. Simplesmente não funcionaria. Alguma coisa iria dar errado. E, Reinhold...
— Sim, querida?
— Reinhold, todos aqueles homens. Eles são tão bons. Tão sensíveis e gentis. E mesmo assim, Reinhold, não pude evitar pensar... que estão realmente fazendo isso. Homens, eu quero dizer. Não mulheres. As mulheres parecem que apenas vão levando a vida, preocupando-se com suas coisas...
— Ah, pelo amor de Deus. Você é uma mulher, está montada em quatrocentos cavalos de força e vai queimar combustível fóssil por todo o Atlântico. Você faz alguma idéia de qual é o seu maior consumo de energia? Aquele parzinho de chinelos térmicos...
— Eu sei, Reinhold — respondeu, triste. — Eu sei. Mas isso é porque as coisas estão aí. Os homens é que deixaram isso tudo para nós. Se as mulheres estivessem sozinhas, você acha que elas fariam mineração ou perfuração oceânica ou a General Motors? Ou matariam baleias?
— Vamos ser substituídos por um banco de esperma, não é? — ele sorriu. — Falando nisso...
— Você sabe o que eu mais gostei? — ela perguntou, tímida. — O quê?
— Gostei... daquele homenzinho do exército secreto de sabotadores antipoluição.
Reinhold começou a rir de nervoso, esperando que ela estivesse falando aquilo de brincadeira. Com P. era impossível saber. Mas ela havia coberto o rosto com as mãos pálidas enluvadas e sussurrava desiludida: — Ah, é tudo tão sem esperança, tão sem esperança...
— Meu amor! Não chore, querida, não chore, venha cá...
Venha para perto do Reinhold.
Ela enterrou o rosto em seu peito, soluçando.
— Não tem jeito, o que é que eu posso fazer? Oh, eu falhei com ELE.
— Vou levá-la para casa agora, querida. Escute seu Reinhold. Aquele negócio de Estocolmo são apenas mais caras falando e que apenas querem aborrecê-la.
— ...Eu sei.
Mas, no avião, ela agiu de modo realmente estranho, e depois, na suíte VIP em Nova York, ela pulou fora no meio de seu programa.
— Reinhold, existe alguma forma que me permita provocar uma guerra mundial agora?
Ele não sabia se soltava um palavrão ou uma gargalhada.
Então viu o rosto dela.
— Quero dizer, se todas as pessoas se matassem agora, a maior parte do meio ambiente não seria salva?
— Ah, bem, mas...
Ela pulou da cama e andou nua até a janela. Bastante irritado, percebeu que ela tinha esquecido sua existência mais uma vez.
— Se eu pudesse arranjar algumas bombas... Mas é tão difícil, não é? Seria tão duro. Sou tão pequena. Ah, eu não posso fazer nada.
Ele cerrou seus belos dentes do Meio-Oeste. Lá estava ela, só Deus sabia quantos milhões e a bunda mais espetacular que jamais vira em anos. E a cabeça de um passarinho com amnésia.
Se concordasse em se casar com ele provavelmente esqueceria isso também. Se Reinhold trocasse suas pílulas, ela ficaria grávida e disso não poderia se esquecer. Ou poderia?
P. virou-se para ele, uma figura de aflita voluptuosidade.
— Sinto-me tão miserável, Reinhold. Como é que posso ajudar a ELE? Não posso, eu falhei. Eu falhei. Tenho que pensar.
Por favor, Hadley, vá embora.
Quando ela finalmente ficou sozinha, a dor não lhe permitiu descansar. Caminhou, deitou-se, levantou-se para andar novamente sem notar a passagem do dia e da noite, o telefone que tocava. ELE está doente, envenenado, morrendo, pensava mais e mais. Eu falhei para com ELE. Não sou boa.
Ela não conseguia sequer sentir a presença DELE, ali naquele louco amontoado de humanos. Ela O desejava; nunca antes passara todo um verão entre pessoas, longe de toda comunhão. Sentia-se terrivelmente desorientada. Quando o telefone tocou novamente sob a sua mão ela o atendeu sem pensar.
— Achei que você devia saber — disse Reinhold formalmente. — Seu tio Robert Endicott faleceu na noite passada. Algum tipo de envenenamento por comida, trufas, eu acho. Lamento muitíssimo.
— Ah, pobre tio Robbie — ela gritou distraída. — Ele era tão gordo. Ah, Deus.
— É, é trágico. A propósito, acabou de aparecer outra coisa que talvez a distraia. Lembra daquela terra lá em Montana? Seu locatário acabou de ligar; ele está louco porque seus poços artesianos estouraram todos. Parecem ter atingido um enorme lençol de petróleo. Estamos enviando Marvin. Escute, quer se casar comigo agora, meu amor? Você precisa de alguém que a proteja, não pode...
Ela desligou o telefone, franzindo a testa. Petróleo? PETRÓLEO? ELE havia lhe mandado outro presente, isso ela entendia (pobre tio Robbie!), mas porque petróleo? Petróleo, o veneno dos venenos, a causa de tanta poluição e morte?
Ela andava de um lado para o outro, mordiscando a ponta do cabelo. Era maravilhoso que ELE ainda a amasse, e estivesse até recompensando seus pequenos esforços. Mas, por que mais petróleo? Será que ELE não entendia que aquilo O estava matando? Impossível. Ou seria alguma espécie de irresponsável gesto galante? Ou ELE estava tentando dizer alguma coisa?
Ela olhou para a cidade brilhante incrustada no amanhecer cinzento e subitamente veio a iluminação. Não era a vida DELE que estava em perigo. De jeito nenhum. Era a dela.
A biosfera: inúmeros ecologistas haviam lhe dito como era fina e frágil. Uma simples película de ar e água e solo e vida num enorme corpo mineral. O corpo DELE, quanto media, vários milhares de quilômetros de diâmetro? Ora, a vida era apenas uma mancha, uma espécie de mofo nascido por causa da luz do sol em SUA proteção externa! Como isso poderia significar qualquer coisa para ELE? Talvez ELE mal notasse, talvez isso até o aborrecesse, como... como acne! Seria possível que até ELE quisesse se livrar de toda essa rica biologia que ela havia tentado tanto salvar?
Naquele momento, a luz do sol como que explodiu por entre a neblina e brilhou nos prédios da cidade. Isso lhe disse que estava certa. Sua ridícula cruzada havia acabado.
Mas, então, o que faria para merecer a ELE? Para mostrar a ELE que era uma mulher e não mais uma menininha boba?
Ora, pensou hesitante, mulheres sabem de coisas. Verdadeiras mulheres se distinguem por uma profunda capacidade de compreensão, especialmente de seus parceiros. O que sabia ela sobre ELE? Quase nada: descobrira isso em suas viagens. Seu estágio de conhecimento era lamentável.
Ela devia aprender.
Parando apenas para instruir Reinhold a enviar uma grande quantia á guerrilha antipoluição, P. correu para a biblioteca pública de Nova York. Pouco depois, saiu de lá com uma braçada de catálogos de cursos e pegou o avião para Berkeley.
No vôo, fez uma lista:
Geologia Física.
Geologia Estrutural, também chamada Tectônica.
Geofísica, incluindo Sismologia, Núcleos de Plasma e Geomagnetismo.
Oceanografia, talvez.
Isso dava conta do corpo DELE — ah, meu amado — e de sua história. Ainda restavam Geologia Econômica e Sensorótica Mineral, que ela dispensou por ser desagradável. Mas a lista não parecia completa. Uma verdadeira mulher deveria compreender os interesses externos de seu amado e se relacionar de forma inteligente com SUA vida. E também havia a questão incômoda de SEUS parentes, pois devia essa gentileza a ELE. Consultando mais adiante, acrescentou:
Astronomia I. O Sistema Solar.
Astronomia V. O Aglomerado Local, Origem e Futuro. Pré-Requisito: Cálculo III. (Ó, Deus, dai-me forças!)
Agora ela sentia-se satisfeita. Ao desembarcar do avião, seus sentimentos foram confirmados: o aeroporto apresentava as piores falhas, em cinco anos, devido ao desnivelamento da pista. Finalmente sabia que estava no caminho certo!
Na universidade, iniciou o que considerava seu período de Preparação Feminina. (Diversos professores de ciências consideravam o curso de maneira bem diferente.) Foi uma época de trabalho duro e satisfação.
Descobertas! A pele DELE, ela aprendeu, era bem parecida com a sua, sempre escamando, minando líquidos, alisando. Ninhos, canais, recifes e outros detalhes de orogênese não a interessavam muito, e “leitos rochosos” foram um desapontamento.
E a riqueza de SUAS substâncias! Onde antes havia pensado em SUA vida apenas como florestas simples, prados, flores, ela agora se maravilhava com a realidade da magia mineral. Pensar que existiam mais de duas mil espécies!
Suas mãos seguravam esfleritas e anfibólios com carinho.
Maravilhada, ela contava as clivagens e as complexas simetrias da beleza dos cristais Ortorrômbicos, triclínicos! Ela aprendeu as fascinantes seqüências de seleção de temperatura, desde zeólitos congelados até feldspatos e olivinas incandescentes. Minérios radioativos a impressionavam: ali batia SUA pulsação. E, oh, a magia dos padrões de difração dos raios X!
O cascalho comum não era mais bobagem, mas o pó que cobria o rosto de SUA pessoa. Os pés tornaram-se mais sensíveis, sexualizados à SUA substância; ela adormecia murmurando SEUS estados e processos: sedimentário... metamórfico...ígneo...Passando de granito a diorito a gabro e aos basaltos primitivos, ela se sentia mais e mais próxima de SEUS mistérios.
Lacólitos e lopólitos, ela sussurrava; troncos e — ah! — plutonismos negros! Todas as formas de intrusão ígnea. Intrusão ígnea?
Era tudo o que desejava!
E os maiores eram as incompreensivelmente vastas protuberâncias magmáticas conhecidas como batólitos. Ela passou seu primeiro feriado de Ação de Graças passeando sozinha pelas pedras mais sombrias do grande batólito de Idaho, sonhando com a proximidade de SUA força primal.
Agora é bom que se explique o conceito que P. fazia da natureza de seu amante, o Terra. Ela já não pensava — e nem tinha pensado — NELE como um esferóide oblongo com cerca de 15 mil quilômetros de diâmetro no equador, pesando 22x1020 toneladas e suportando em seu centro uma pressão de 25 mil toneladas por polegada. ELE possuía esses atributos e todos os outros que havia conhecido recentemente, assim como ela possuía seus atributos de massa e pressão osmótica. Mas ELE não se definia assim: não mais do que ela era definível como um padrão potencial de 24 volts contido em 1300 ccs de geléia eletroquímica.
Exatamente o que ELE realmente era, ela não sentia necessidade de dizer. Se pressionada, poderia (com seu novo vocabulário) ter murmurado alguma coisa acerca de “configurações megaenergéticas” ou talvez “estruturação grávito-inercial”. Mas a verdade era que ELE era simplesmente ELE. O resto era detalhe. Até a hora final estaria gravada em sua mente a imensa e obscura figura de um homem adormecido delineado em fogo eternamente aceso.
Ela agora retornava ao campus quase que insuportavelmente excitada pela questão vulcânica. E, como o banco continuava convertendo a fortuna do tio Robbie, ela convidou toda a sua turma de geologia para um vôo charter, na Páscoa, até o vulcão ativo da Islândia.
Foi assim que seu professor e quarenta colegas estudantes acabaram carregando champanhe para tomar na borda de uma caldeira litorânea perto de Surtsey. Aquele vulcão, em particular, havia se tornado uma passagem de ventilação interna e era considerado muito seguro. Além da caldeira havia uma planície de moitas e pedras-pomes; P. corria ansiosa até o topo em seu conjunto de tricô feito à mão. Pequenas fumarolas se erguiam da terra por onde ela passava; sorriu carinhosa. Seus companheiros se mantinham distantes. Trêmula de excitação, P. avançou sozinha até a borda da cratera viva e se inclinou para olhar para dentro. Abaixo dela borbulhava a SUA essência derretida! Fluindo fogo, misturada a crostas estranhas. Seria aquele, talvez, SEU sangue escorrendo de cicatrizes cósmicas? Ou talvez... uma emissão mais significativa?
Ela olhava fascinada, sentindo apenas o mais sutil dos impulsos de se atirar. (Mas a hora, ela sabia de alguma forma, ainda não era aquela.)
Chamas espocavam, aquecendo sua face. Oh, amor! P. olhava para baixo, deliciada.
Subitamente, foi agarrada pelas costas e carregada à força rapidamente pela planície. Era seu professor, o doutor Ivvins.
— Pare! Deixe-me!
— Corram! Corram! — ele gritava, colocando-a de volta ao chão. Puxou-a rapidamente por sobre a escória em direção à parede da caldeira. Ela viu os outros correndo à sua frente e ouviu um rugido que crescia às suas costas e do chão.
— O topo está explodindo — o doutor Ivvins falou sem fôlego quando chegaram ao abismo que levava às encostas externas. Vários pedregulhos tremiam. Enquanto os outros pulavam a fenda, P. deu um safanão em Ivvins e virou-se para olhar.
Com um estrondo de canhão, a borda onde ela esteve olhando foi cuspida ao céus numa erupção. Explosões — ranger de rochas — um pilar de luz cegante: uma onda de magma alaranjado cremoso vazou do fundo da caldeira. O calor rolava em sua direção. Um objeto se destacou do fogo e caiu a seus pés, brilhando e cuspindo lava. P. reconheceu seu formato afilado: uma bomba vulcânica. Que bonito!
Na superfície derretida da bomba, dois lábios longos, rosados, perfeitamente humanos se formaram. Sorriam para ela.
P. soltou um grito e teria se atirado sobre ela se não tivesse sido novamente agarrada e levada para longe. Por toda parte, agora, as cinzas caíam; o céu estava escuro. Ivvins apressou-os na descida das encostas nuas enquanto a montanha rugia.
Quando seu avião decolou, P. viu toda a muralha da caldeira ruir lentamente numa onda de chamas escuras. SEU gesto de despedida! Ela o abraçou em espírito, e mais tarde telegrafou a Reinhold para que indenizasse os sobreviventes.
Com alegria, P. retornou aos estudos — e defrontou-se com uma mudança. Seus cursos a estavam levando para baixo de SUA pele, para dentro de SEU vasto corpo. SEU tamanho real começou a alcançar-lhe a mente. As profundezas abissais do oceano, percebia, eram para ELE nada mais do que as manchas que ela tinha nas costas. O que havia por baixo? Esperançosamente, acompanhou seus professores através da crosta siálica, pela linha andesita, pela profunda camada da córnea. Mas tudo isso ainda era epidérmico. As sondas mohorovíticas eram apenas agulhas para ELE. Mesmo os magmas vulcânicos pareciam ser formações de crostas, menos profundas que um quisto sebáceo.
Sob isso, diziam a ela, jaziam centenas de quilômetros de uma substância oleosa chamada manto. E dentro disso, como um sa-télite planetário de seis mil quilômetros de diâmetro, estava o SEU núcleo interno. Ah! O que havia ali?
Para seu profundo desapontamento, ninguém parecia saber. SUAS regiões vitais eram descritas como massas homogêneas, que diferiam apenas em seus prováveis estados de plasticidade. Ela ouviu atentamente as teorias das convecções profundas e lentas e das correntes misteriosas que podiam estar relacionadas com SUAS auras radiantes. Seu interesse foi capturado brevemente por SEU desvio voluntário dos pólos magnéticos.
Ah, sim, ELE era incansável! Mas quando leu sobre as propriedades supercondutoras da matéria que, supunha-se, formava SEU coração, isso nada significou para ela. De plasmas em geral aprendeu mais do que desejava, mas, do SEU plasma, nada. Que importava que alguma coisa em SUAS profundezas eliminava as ondas S perpendiculares enquanto acelerava as primárias compressoras da onda P?
Ela percebeu que seus professores não conheciam nada vital. O interesse deles terminava onde o dela começava. Parando apenas para fazer uma doação a um instituto de geomagnetismo, ela recorreu aos astrônomos.
E foi aí que tudo deu errado de cara.
Mais tarde, ela pensaria nisto como uma fase ruim, o período de provação. Começou quando seu último tio, Hilliard, morreu.
O funeral foi em Winnetka, dois dias antes de começarem as aulas. P. segurava o braço magro do pai, oprimida por pon-tadas de solidão e amor meramente humanos. Seu pai estava mais envelhecido e mais atormentado do que nunca pelas avalanches de riqueza. Depois jantaram no salão executivo do hotel O’Hare’s.
— Só você e eu, agora — disse o pai sombrio. E repetiu o comentário.
— Pobre tio Hilly.
— Sim, foi terrível. Pavoroso. O que deu nele? Animação suspensa, crio-sei-lá-o-quê. Não entendo como todo aquele hi-drogênio não explodiu com a cidade. — Ele pôs de lado o pratinho de manteiga. — Acho que isto aqui não é manteiga... E o coitado do Robbie, comendo aqueles cogumelos. George, atingido por um raio. Marion e Fred. E Dafne, aquela onda, um tsunami, não foi? Furacões, terremotos. Deslizamentos de terra. Atos de Deus. A família inteira simplesmente varrida do mapa.
Ele soluçou. P. segurou firme sua mão; sabia que ele sentia profundamente a perda de sua mãe.
— Só você e eu, agora. — Examinou a filha, pensativo.
Seus olhos violeta eram frios. Seus antepassados, afinal de contas, haviam erguido os dolmens de Stonehenge. — Estou colocando tudo em seu nome — falou tão alto que os advogados da mesa ao lado viraram as cabeças. — Cada penny. Estou deixando tudo para você.
— Ah, papai! Eu vou tomar conta do senhor.
Ele sorriu, sem esperanças. P. apertou sua mão, tentando descobrir o que ele queria.
— Sua mãe — disse em voz baixa. — Nunca lhe contamos... Antes de você nascer ela teve um bebê de pedra.
— Um o quê?
— É como os médicos chamam. Que nome, não é? Não chega a ser um bebê realmente. Ossos, dentes... Cabelo... Teve de ser retirado.
— Ah, meu Deus, papai. Que horrível.
— É. — Ele olhou-a com um amor cansado. — Tenha cuidado, minha querida.
Um bebê de pedra!, pensou P. O que será que ELE havia tentado fazer?
Quando se abraçaram no portão ele disse novamente, em voz alta:
— Está indo tudo para a sua conta, querida. Não quero nada. Mas não foi, ao que parecia, rápido o bastante. Naquele fim de semana um meteorito chocou-se com o buraco número quinze do campo de golfe em Ekwanok, Vermont, matando-o e a um esquilo que passava pelo local.
Esse foi o primeiro grande sofrimento de P. A crueldade de SEU amor. Livrando-se dos outros. Ela chorou, com uma nova consciência. Finalmente entendia que não era uma brincadeira de criança.
Retomou com seriedade seus novos estudos cosmológicos.
Gostou de aprender que a infância de Terra, assim como a sua própria, havia se passado numa atmosfera de amônia. SEUS parentes maiores pareciam outro conjunto de tios: Júpiter e seu jeito enigmático, Saturno gordo de tantos anéis, Urano viajando em pose tranqüila. Ela não aceitava que Terra fosse um tipo comum de planeta. Para ela, ELE era magnífico. E lá estava o Sol amarelo ao redor do qual todos giravam com tanta fidelidade.
Aqui a primeira dor a atingiu.
Qual, precisamente, era SEU laço com aquele corpo flamejante? O que era essa tal de “gravidade” que tanto O atraía?
Ela parou, como que congelada, nos degraus do prédio de ciências e olhou para o Sol com os olhos apertados. O centro de SUA vida, SUA estrela quente. Poderia ser que... Seria possível que aquela entidade astral loura fosse SEU verdadeiro amor?
SUA parceira pública e de lei?
Atordoada, ela desabou sobre os degraus. Seus olhos fechados queimavam, o coração arrasando de humilhação. Claro, ela pensou. Ela é SEU igual. Eu não sou nada... um brinquedo, SUA pequena diversão animal. Ela — onze mil graus Fahrenheit na fotosfera — ela é a esposa DELE!
Do resto daquele dia a única coisa de que se lembrava era de ter tomado várias pílulas para dormir.
Na manhã seguinte, acordou e percebeu que esse primeiro pesadelo havia passado. Como pôde ter sido tão estúpida? Não ter visto uma configuração tão simples. Pequenos em torno de um grande: o Sol não era SUA parceira, era SUA mãe!
Aliviada, ela retornou à classe, mas tão-somente para levar um novo choque.
Terra estava circundando, ela aprendeu, SUA mãe estelar havia muito, muito tempo. Cerca de cinco bilhões de anos, na verdade. Mesmo em termos astrais isso lhe pareceu um tempo muito longo para um filho ficar ao lado da mãe. Por que ELE não se libertava? Seus irmãos planetários também pareciam contentes em permanecer para sempre ao lado da mãe. Que tristeza!
Mas, espere: e quanto aos asteróides? Talvez tivesse existido um planeta na quinta órbita de Bode, um ser que de alguma forma houvesse se soltado e voado para longe deixando pedaços de sua casca para trás? Então Terra poderia fazer o mesmo!
Ela perguntou isso ao professor, e a esperança morreu.
Aquela cadeia confusa de rochas, ao que parecia, constituía uma massa contando, apenas, com fragmentos dispersos de um planeta que não chegara a nascer. Ou natimorto, como — ela estremeceu — um bebê de pedra.
Não, nenhum deles havia escapado. ELE estava preso para sempre em SUA ronda maternal idiota. Essa idéia a deprimiu; a certeza da brilhante consumação em que ela vivera por tanto tempo esvaneceu-se. Será que seu grande amor estava para terminar como uma farsa burguesa francesa, onde o filho traz a esposa para casa para viver uma irritante eternidade sob o domínio da mãe? NÃO! Certamente ELE tinha um destino maior.
Certamente ELE queria ser livre de alguma forma. Talvez ela pudesse ajudar.
P. procurou o professor mais uma vez e perguntou-lhe qual a força necessária para tirar Terra de SUA órbita e soltá-LO no espaço. (O professor viu o colo dela estremecer e disse a si mesmo que ensinar era um compromisso sagrado.) A resposta meio desconexa que deu a desagradou, tanto que jamais conseguiu se lembrar dela com exatidão. Mover Terra, soube, estava bem além de qualquer habilidade humana. Mesmo que Terra pudesse de alguma forma SE lançar como um foguete, não faria mais que alargar SUA órbita. Ele estava preso!
Ela foi embora, triste, andar pela praia fria no inverno, esperando sentir SUA presença, SEU profundo apoio. Percebeu que não sentia SUA presença fazia algum tempo. O que estava errado? Oh, meu amor, onde está você? Fale comigo, rogava em silêncio. As ondas batiam com um ruído surdo. Nada.
O pensamento blasfemo cruzou sua mente: talvez ELE não a deixasse porque estava muito bem aqui, estava tranqüilo e contente com SUA mãe. Para distrair-se, passou os olhos na carta que trazia amassada na mão. Era de Reinhold. Outro aumento chato em sua riqueza. Outro de SEUS presentes... mas não aquele pelo qual ansiava.
Quando a lua surgiu por entre as montanhas da costa, surgiu também uma idéia terrível. Certa vez, ela sofreu muitos aborrecimentos devido a um admirador idoso que vivia escondendo brincos de brilhante dentro de seu grapefruit grelhado. E cercando-a com obscenidades patéticas e presentes, presentes, presentes...
Será que Terra era... velho?
Ah, não! Não!
Mas ao olhar a lua acobreada, veio a certeza. Ah, sim, isso explicaria tudo. Todos os carinhos e afagos ilusórios, as promessas que não levavam a lugar nenhum. Os intermináveis presentes inúteis. A destruição de toda a sua família, deixando-a tão só... Isso não era atitude de ciúme senil?
Cinco... bilhões... de anos?
ELE não era nenhum amante jovem e viril, ELE era velho, velho, velho!
E aquela lua decrépita lá em cima... Não seria ela, na verdade, a SUA velha esposa? Ora, ELE havia até arrumado um jeito de enviar-lhe emissários. Ah, sim. Velho. Era desolador demais para suportar.
Caiu sobre a areia e chorou feito criança. Mas, quando acabou, descobriu outra verdade. Ainda O amava. SUA idade, ela pensou dolorosamente, não é SUA culpa. Ela devia aceitar aquilo, descobrir alguma alegria no crepúsculo de SUA vida. Ela O havia amado por tempo demais para parar. ELE era tudo o que possuía.
Com o coração em lágrimas, ela só queria fugir. Saindo do colégio, ela se obrigou a doar a maior parte dos instrumentos do tio Hilliard ao observatório, mas não olharia novamente para as estrelas. Quando alguém fazia alguma brincadeira sobre as “antigas areias marcianas”, ela rompia em lágrimas.
Para onde ir, o que fazer? Impulsivamente, voou para a floresta que havia sido o primeiro templo DELE. Parecia acanha-da e moribunda. Nem chegou a ir até a grande rocha, mas simplesmente enviou as chaves ao corretor — um gesto impensável — e voou de volta à sua cobertura em Nova York.
Foi o nadir absoluto de sua vida.
Com medo de ficar sozinha, aceitava convites a esmo, mas os risos eram intoleráveis; flanava entre os cumprimentos.
Teve diversos amantes e esqueceu os nomes de todos. Reinhold apanhou-a orando a ELE e a enviou a dois psiquiatras. Quando recusou-se a falar com ambos ele enviou outro disfarçado de eletricista, que queimou a mão na caixa de fusíveis.
Nessas profundezas se iniciou o que ela mais tarde chamaria de O Tempo dos Presságios. Mas estava num estado miserável demais para compreender isso.
Eles começaram sutilmente. A conta de seu florista foi extraviada para o Alasca. Ela telefonou para a garagem e descobriu que falava com uma criança em Labrador. Quando a primavera chegou, sua caixa de correio ficou atulhada com anúncios de equipamentos para as regiões árticas, e uma agência de viagens vivia lhe enviando roteiros para um vôo charter para a baía de Hudson, coisa que, insistiam, ela havia pedido.
Desesperada, permitiu que um novo amante a levasse a uma reserva particular de esqui em Montana. Deixando-o mortalmente ofendido pela manhã, esquiou sozinha para se encontrar com seu Mercedes alugado. Os animais pareciam estar se comportando de forma estranha. Três antílopes chegaram perto o bastante para que ela pudesse tocá-los; um lince chegou a caminhar a seu lado. Quando ela parou para descansar, um coiote apareceu e ficou puxando gentilmente seu agasalho com os dentes.
— Vocês estão tão loucos quanto eu — disse ela com tristeza. No caminho para o aeroporto, um bando de gansos da neve cercou o carro grasnando até que ela mandasse o chofer parar. Eles circulavam ao nível dos olhos, gritando para ela sua urgência. Norte! Para o norte! Ela sacudiu a cabeça e continuou a viagem para pegar o avião, mal reparando que a bússola estava descontrolada.
Foi nesse avião que finalmente começou a AÇÃO.
Um jovem servil de nome Amory havia chegado para escoltá-la de volta à sua casa; os advogados pareciam querer que ele se sentisse útil. Amory era um rapaz inofensivo, com mania de telefonar. Depois que a instalou na primeira classe começou a conversar alguma coisa sobre as últimas notícias. Ela se aconchegou em suas peles, suportando um mundo sem sentido.
Voaram por toda a noite. Havia uma confusão na cabine de comando à sua frente; idas e vindas, confirmações tensas pelos alto-falantes. Amory circulava para saber o que havia. P. não se importava nem um pouco.
Finalmente o avião estava pousando. Em Cleveland. Correção: não era Cleveland, mas algum lugar estranho chamado Val d’Or, em Quebec. Isso atraiu sua atenção. Quando as portas se abriram ela despachou Amory e ficou esperando o piloto.
— Capitão, o que está acontecendo?
Ele olhou nervoso para a beleza pálida que se erguia da poltrona. Infelizmente, olhou tempo demais; seus nervos estavam em frangalhos. Quando chegaram à porta, balbuciou uma provação de instrumentos enfeitiçados, sinais fantasmáticos, interferência no rádio.
— Este maldito jato ficou louco — ele disse. — Estamos a quase mil quilômetros ao norte de Ohio. Desculpe. Olhe aquilo!
Estavam no topo da rampa. A noite acima deles queimava com luzes boreais. Cordas de fogo verde se retorciam, brilhavam de um jeito medonho, transformavam-se numa flecha que varava o horizonte negro, ondulavam e tornavam a se refazer instantaneamente.
Ela ficou olhando, reconhecendo a estrela polar no coração da flecha. Norte...? O ímã em sua alma estremeceu, a sensação perdida de conexão despertou em seus ossos. Todos os sinais sem sentido dos últimos meses se juntaram. Pousou a mão enluvada no braço do piloto.
— Capitão, vou sair daqui. — Sorriu, trêmula. — Por favor... experimente suas máquinas novamente. Creio que o chamado é para mim.
Amory a encontrou no pequeno escritório da companhia de charters marcando um hidroplano Beaver para Churchill via Moosonee.
— Você vai para casa, Amory. Não vou precisar de você. Além do mais, pode ser perigoso.
Foi um erro. Um dos clientes telefônicos de Amory era sua firma de seguros. Quando P. percebeu que ele não partiria, mudou o equipamento para um Otter e lhe disse para encontrar quartos no motel do aeroporto.
Suas pernas tremiam tanto que mal conseguiu andar até seus aposentos; desabou sobre uma cadeira na escuridão e ficou olhando os céus silenciosos queimarem. Um fogo frio, branco, rosa, verde: véus cósmicos retorcendo-se e partindo-se, repetindo sempre a mesma tocha, a flecha luminosa que apontava para o norte. ELE está finalmente me chamando, sussurrava repetidas vezes. Finalmente, finalmente. Seus olhos transbordavam lágrimas; por todo o seu corpo as fontes fechadas voltavam a minar. Meu amor está chamando, ELE precisa de mim! Velho, doente, moribundo: o que importava? Eu sou sua, estou indo, estou indo... Ficou sentada à beira da janela a noite toda.
Quando amanheceu, ela e Amory embarcaram no Otter e começaram a sacolejar rumo ao norte. E quanto a Amory, perguntava-se: ele também era desejado?
Em Moosonee recebeu sua resposta. Atravessando o campo de pouso em disparada para dar um telefonema, Amory deu um grito e desapareceu quando um poço de água natural desabou sob seus pés. P. o deixou na enfermaria de Moosonee com uma concussão e seu cartão para ligações telefônicas. O Otter continuou sacolejando para o norte.
O pântano de juncos abaixo dela era uma planície monótona acachamalotada de lagos e vegetação rasteira, sombreados por ilhas de chuva, ocasionalmente acinzentada pela fumaça ou pelo lixo de um acampamento. P. observava os padrões das águas mudarem da escuridão à luz com as mudanças do sol.
Amado, estou indo...indo...indo!, seu coração cantava, acompanhando o ritmo do motor. Pousaram para reabastecer num esconderijo nos arbustos. Ela ficou sentada, esquecida das moscas varejeiras que infestavam a cabine.
Na segunda parada, o piloto começou a olhar para ela descaradamente. Era um veterano calejado, acostumado a bancar o caladão. Ofereceu-lhe repelente de insetos.
— Não, obrigada — e sorriu.
Ele deu um tapa na própria nuca e decolou um tanto abruptamente, assobiando uma canção que foi obscena na sua época. Uma hora depois, ela o espantou ao pedir o mapa. Nele, com um toco de lápis, marcou a direção. Verificou as legendas do mapa e recostou-se na poltrona, o rosto radiante.
Havia confirmado que seu curso estava próximo da linha de declinação zero. A seta a havia convocado, não para o eixo norte, mas para SEU pólo magnético. Claro: a fonte misteriosa de SEUS brilhos. Onde era exatamente? 75° Norte por 1010
Oeste, algum lugar sobre a península de Boothia. Ilha Bathurst, soava mais correto. Oh, amor, estou correndo! O avião era tão miseravelmente lento...
O fone de ouvido do piloto começou a falar. Ele escutou com atenção, mudou os canais, xingou, escutou novamente.
A linha costeira de Churchill estava adiante. Ele apontou para baixo. Ela viu dois longos sulcos cortando a água numa curva para leste. Apenas um cargueiro solitário estava no porto. Surpreendentemente, tinham de circular em direção ao crepúsculo enquanto dois aviões decolavam e voavam para o sul.
Quando desceram, ela o acompanhou através de uma multidão até o escritório, olhando para os grandes mapas na parede.— Vocês podem me levar até lá, à baía Spence? E, depois, em direção ao norte?
— Claro — ele assinou na prancheta. — Semana que vem. — Ah, não. Quero amanhã. Bem cedo.
— Hã-Hã. Assim que clarear estou indo para Chiboo. Tem uma grande frente vindo de Winnipeg.
— Mas eu preciso! É... é muito importante, eu pago o dobro com prazer, pago qualquer quantia... — Seus belos olhos se turvaram, as mãos apertaram seu braço.
— Dona, eu não ficaria aqui por um, hã, pirulito de ouro puro.
— Oh, por favor... Olhe, será que não era possível você me arrumar um avião? Eu tenho que ir, o meu... alguém muito querido para mim está por lá.
Ele franziu a testa para ela, e de repente bateu forte com a prancheta na parede.
— Alguém quer ir à baía Spence de manhã? A senhora aqui diz que paga muito bem.
Os homens, reunidos ao redor do termômetro, levantaram os olhos e voltaram a se virar. Só um rosto continuou atento, um rapaz magro com um boné pontudo que mais parecia chapéu de viúva. — Frenchy, você ainda tem aqueles tanques?
— Isso é estupidez — o rapaz aproximou-se um passo.
Abruptamente, P. retirou do casaco sua carteira cor-de-rosa e começou a sacar notas de cem.
— Um dos flutuadores pode furar, ou talvez pior.
Ela tirou outra nota e mais outra, até que o rapaz fez uma reverência rápida e se aproximou.
— Entende que será perigoso? Madame está preparada para qualquer problema?
— A dona quer encontrar alguém.
— Ah.
— Por favor, encha o tanque e coloque todo o combustível que puder — ela disse. — Podemos ter de ir além da baía Spence. Vou deixar todas as minhas outras malas. Quando podemos partir?— Às três, madame.
Assim começou o último estágio de sua viagem até ELE, que ela encarava como uma missão de auxílio.
Aquela noite ela passou sentada na sala de espera do aeroporto, a face contra a janela que dava para a tempestade, olhando SUA glória. Churchill estava acostumada às auroras boreais; havia uma estação de pesquisa de auroras ali. Mas aquela demonstração era épica. Arcos, raios coloridos, clarões rápidos, cortinas esvoaçantes de fogo que tomavam o céu inteiro, uma conflagração silenciosa. De quando em quando figuras obscuras erravam pelo asfalto lá fora, garrafas na mão, rostos voltados para o céu. O zênite chorava esmeraldas, rubis, zircões e soltava hálitos de diamante.
P. olhava com avidez, esperando que ELE pudesse revelar alguma coisa de sua necessidade. As auroras, ela sabia, estavam ligadas às chamas solares. Seria possível que SUA mãe também o estivesse chamando? Ela mordeu o lábio e percebeu que o operador do rádio perguntava-lhe se estava tudo bem.
— Sim, obrigada.
Ele deu um soco nos consoles repletos de estática e foi se deitar na cama de campanha. Agora ela o ouvia ressonar. Os fogos celestiais se aceleravam. Pareciam, agora, estar pulsando, fluindo em ritmos sensuais. O coração de P. começou a bater mais forte. De alguma forma aquele espetáculo de luzes não sugeria debilidade. Não parecia um grito de... socorro. O que ELE estaria querendo?
Subitamente os arco-íris da madrugada deram um salto, ondularam enormemente e se partiram. Para revelar um grande hieróglifo tão ameaçadoramente erótico que seu ventre estremeceu. Será que aquilo era atração senil?
— Não! — respondeu seu corpo.
A forma escandalosa explodiu no céu, levando com elas todas as suas tristes ilusões. ELE não era velho, não era doente! ELE era jovem! Jovem e supremamente macho, chamando-a para ELE finalmente, como ela sempre soube que ELE faria!
Soluçou alto quando a radiação fluiu para fora em formas de sedução inefável. Oh, meu amor, meu amor, meu amor.
Finalmente a noite curta cedeu lugar ao amanhecer. Seu piloto chegou. Para levá-la, finalmente, em sua última viagem, sua viagem de núpcias. Para ELE.
Decolaram sob um céu cinza-amarelado. As luzes de outros aviões piscaram por trás deles, voando para o sul. Para o norte, à sua frente, o ar estava claro e parado. Seu piloto, cujo nome era Edouard, baixou os fones de ouvido.
— O barômetro subiu — ele sorriu. — Onde está essa famosa frente? As horas se arrastavam. O Norseman, atulhado de carga, voava para o norte. Para suportar a lentidão, P. deixou que Edouard lhe explicasse os controles duplos. Ela estava lamentando sua indiscrição quando rolos de nuvens passaram por eles, vindos de trás. Ela se virou e viu um grande banco de estratos ao sul. Sério, Edouard subiu acima da massa. Rapidamente ela se tornou um piso sólido de flocos, iluminados pelo sol baixo à sua direita.
P. reparou que o ar nas entradas de ventilação estava mais quente, quase tropical. Sorriu maravilhada. SEU ar nupcial! Até mesmo os motores do Norseman pareciam mais quietos, mais suaves. Entretanto, o rosto de Edouard começou a ficar cada vez mais contraído.
— O que houve?
— Um vento de cauda. — Ele tentou o rádio novamente, sacudiu ligeiramente a fiação de seu transceptor de ondas curtas. — Não é possível. Sei.
O avião mergulhou o nariz na lã cinzenta e ficou frio. Finalmente saíram por debaixo das nuvens. Estavam sobre uma grande massa de água; a baía de Hudson? Edouard soltava palavrões, incrédulo, enquanto os fones de ouvido tagarelavam. Então começou a fazer uma curva em U com o avião.
— Madame, eu lamento. Precisamos voltar.
— Não, não! Por quê?
— Aquele vento maluco lá em cima, está a quatrocentos quilômetros por hora. A Real Força Aérea Canadenese está mandando todo mundo embora. A baía Spence foi evacuada, madame, não é possível a senhora ir para lá.
— Oh, não, por favor! — Ela olhava horrorizada a agulha da bússola girar implacável para 180°, Sul, longe DELE.
— Madame, não tenho escolha. Eu lamento.
— Edouard, quanto custa este avião?
— Isto? Ah, cerca de duzentos e sessenta, trezentos mil dólares americanos. E os magnetômetros ficam por fora.
Ela estava teclando uma combinação em sua unidade de transferência de créditos cor de malva. Então ela digitou o valor e assinou com um estilete dourado. Um chip roxo de crédito emergiu.
— Pronto, Edouard. Quero comprar seu avião. Ele olhou uma, duas vezes e assobiu.
— Tome, Edouard, é bom. Está vendo o certificado? — Ela abriu a caixa, mostrando nove dígitos. — Você pode enviar uma mensagem para essa estação para confirmar, eu pago.
— Acredito, madame. Mas, se eu lhe vender o avião, o que vai acontecer?
— Então você irá me levar de volta para o norte. Não precisa se preocupar, se o avião for meu.
Ele empurrou a mão dela com delicadeza.
— Acredite em mim, madame, eu lamento. Mas dinheiro não tem valor nenhum para os mortos.
— Edouard! Por favor, eu preciso ir para o norte, a pessoa que eu amo... não entende? Pago qualquer coisa! Por favor...
— Lamento muito, muito mesmo. — Seu rosto cedia, mas os controles continuavam firmes. — Não sou covarde, madame. Voyons, no instante em que acabar esta tempestade eu a levo à baía Spence, a qualquer lugar! De graça — acrescentou, desesperado.
— Não, não, não... — ela soluçava. O Norseman pelejava através da massa cinzenta, a bússola implacavelmente virada para 180°. Seu corpo inteiro gemia em protesto, pedindo para voltar ao norte. Bem acima deles, SEU vento nupcial soprava vazio, enquanto ela era levada indefesa para longe. O que fazer?
Deveria pedir a Edouard para pousar, e simplesmente caminhar para o norte? Mas naquela região era impossível, ela sabia. E de sapatos comuns. Ajude-me, amor! Ajude-me! Mas como poderia ELE? O avião voou cego para o sul, por horas ou anos. Por fim as janelas clarearam. Saíram para a luz do sol acima das nuvens. A cabeça de Edouard virava de um lado para o outro.
— O sol! — ele engasgou. Começou a bater na bússola.
O sol? Estava atrás deles, à esquerda. Ora, eles não poderiam estar voando para o sul! Estiveram voando para o norte o tempo todo! Em direção a ELE!
Tonta de alegria, ela recostou-se na poltrona. Oh, amor, como pude ter duvidado de Seus poderes? A seu lado, o piloto aturdido chutava e socava os controles. O Norseman baixou uma asa, em seguida a outra, e velejou firme para o norte, erguendo-se para o vento poderoso. A bússola girava brincalhona.
— Enguiçou, a desgraçada! — Edouard dirigiu-lhe olhares apavorados. — Não está fazendo nada!
Ela estava quase feliz demais para falar.
— Está tudo bem, Edouard. De verdade. Não tenha medo. Mas ele tinha, virando na poltrona sem fôlego enquanto olhava as coisas estranhas que voavam com eles na cauda de SEU estupendo vento. Ela viu palmeiras, telhados, quadros-negros, pilhas de escombros irreconhecíveis, todos girando lentamente na clara luz do sol acima da pilha nevada de nuvens. Um grande pássaro, igual a um condor — seria mesmo um condor? — passou como que arrastado.
— Olhe... um avião! — Edouard pegou seu binóculo. Um grande jato quadrimotor os seguia, voando de marcha à ré. Parecia ter as marcas da força aérea dos Estados Unidos.
— As portas estão abertas — sussurrou Edouard. — Eles pularam. — Fez o sinal-da-cruz e olhou para baixo. — Acho que aquela ali é a baía Spence.
Houve um solavanco turbulento nas nuvens adiante; a costa. Edouard acionou os flaps novamente e desligou os motores. Não aconteceu nada; o vento rugia.
Os olhos rolavam, ele sussurrava preces. A linha costeira se aproximava. O que P. iria fazer com Edouard? Intolerável tê-lo no seu pé no momento supremo de sua vida. Qual era SEU plano? Ou esse era um daqueles detalhes em que o macho espera que sua parceira tome a iniciativa?
Edouard havia se levantado e estava apanhando os pára-quedas.
— Precisamos pular, madame — e jogou um para ela.
Ela pegou o chip de crédito e colocou-o em sua mão.
Quando ele levantou os olhos, ela estava no outro lado do avião, apontando-lhe um tubinho dourado.
— Salte, Edouard. Me deixe. Vou ficar bem. E não tente nenhuma besteira ou te paraliso com este gás.
— Não, madame!
— Edouard, vá! Falo sério. Você acha que esse fenômeno é natural? Pule agora ou será morto!
— A senhora tem que vir, eu vou...
Quando ele tentou alcançá-la, a janela da cabine a seu lado se quebrou, por onde entrou uma lufada de ar quente e pedaços de plástico. Um grande objeto molhado com tentáculos voando tapou a janela quebrada.
Edouard gemeu. Olhou para a asa do avião, que agora estava acesa com fogos-de-santelmo, e olhou de volta para aquela linda garota louca. Sua alma gaulesa desistiu. Enfiou o chip de crédito no bolso, fez uma reverência e pulou.
Enfim só! P. gargalhou de alegria, dirigindo-se à poltrona do piloto para fechar a porta. O avião parecia voar perfeitamente por si só, um brinquedo na torrente de SEU hálito. A cascata iluminada das nuvens abaixo parecia paralisada enquanto ela a ultrapassava em direção ao norte. A lula havia caído. Um enxame de camundongos, ou talvez lemingues, passou por ela num piscar de olhos.
P. deu uma olhada para trás. O céu do sul estava cheio de uma parede imensa de escuridão; ele fervilhava e brilhava subitamente, acompanhando-a pela curvatura do mundo. Ar quente, ela sabia, causava condensação. Aquele grande embolo da tempestade devia estar provocando a corrente tropical por onde ela fluía. Uma carruagem continental para levá-la a SEUS braços.
Tudo para ela! Oh, amor, sou finalmente digna?
Num impulso ela tirou o casaco e as luvas e começou a escovar os cabelos. Todos os anos de espera, desejo, lutando por um sinal DELE, desesperando-se por SEU amor. Enquanto isso jazia adiante! Ela pôs a escova de lado, sinuosamente afofando os novos casacos de pele cor de ametista. E as roupas de baixo, então, que encantadoras... Pensar que quase vestira aquele conjunto de camurça cor de pulga! Claro que ELE provavelmente não iria notar esses detalhes, pensou; homens quase nunca notam, mas talvez o efeito geral O agradasse antes... antes que as roupas dela acabassem onde devem acabar todas as gentilezas.
Seu ventre queimava de prazer. Ela passou uma essência rara (do tubinho de ouro) e recostou-se para esperar. Para estar totalmente pronta para ELE.
Do lado de fora o sol se encaminhava para oeste, jogando sombras verdes e alaranjadas nas nuvens. Não ficaria escuro, ela percebeu; estavam numa noite de verão. Que exótico! E havia música, um troar melodioso, que chegava até os ossos, como as batidas de um grande coração. SEU coração? O de P. bateu mais forte; ela viu o avião perder altitude, mergulhando nas nuvens.
ISSO está realmente acontecendo!
Um calor surgiu dentro dela, seus membros estavam deliciosamente pesados. SUA presença, SEU mais suave toque seria um êxtase tão profundo que era quase dor. Até mesmo a dor seria um êxtase... Um pequeno pensamento a incomodava: ELE era tão grande. ELE — o próprio Terra — como, na verdade, ELE a possuiria?
E se REALMENTE doesse?
Ela afastou o pensamento traidor. Estavam agora voando baixo sobre os cumes das nuvens. Havia alguma coisa brilhante e ereta adiante. O que poderia ser?
O caminho se abriu e ela viu o que era. Um enorme pênis de gelo! Como aquele antigo cogumelo, só que com quilômetros de altura e — oh — horrível! Deformado... brutalmente talhado e inchado... bestial... odioso...
P. perdeu o fôlego, invadida pelo seu primeiro temor. O que havia realmente adiante? O que realmente sabia a SEU respeito? Quando ELE destruiu a sua família, ela tinha encarado aquilo como amor... mas, e se ELE não sentisse amor? E se ELE fosse cruel? Ou totalmente incompreensível?
Pela primeira vez deu-se conta de como seu corpo era frágil. Com poucos graus de temperatura, a queda de uma pedra a mataria. E ELE, que formava montanhas, era seu mundo! Até mesmo o amor DELE iria certamente sacrificá-la. Tinha sido louca. Estava correndo de encontro à morte!
Gritou quando passou por mais duas selvagens obscenidades de gelo, imaginando um grande rosto inumano olhando os restos ensangüentados de seu corpo. Se pulasse escaparia?
Agarrou o pára-quedas, olhando a assustadora parede de tempestade que vinha atrás.
Ela se contorcia horrivelmente, como se fosse viva. Quando a olhou, duas imensas nuvens gordas se juntaram e criaram uma forma. Lentamente ela penetrou em seu pânico. Era um olho! Mas um olho de grandeza cósmica, divinamente esculpi-do, inquestionavelmente jovem e macho. Relâmpagos brincavam gentilmente dentro dele, como os raios do amor.
Transfigurada, P. viu as duas grandes pálpebras se encontrarem e se abrirem num piscar de suavidade planetária.
Ela tornou a cair sentada na poltrona, já sem medo algum.
Como ela podia ter desconfiado DELE? Esse novo ar revelava a SUA consideração. E como ELE manipulara sutilmente os controles eletrônicos do avião! Claro que seria mais gentil com ela.
ELE compreendia tudo: o que quer que ELE planejasse seria o paraíso. Ela riu extasiada quando passou por outro descomunal falo de gelo. Oh, amor, em teus braços...
Subitamente o avião mergulhou nas nuvens e a cabine escureceu. O mergulho parecia muito inclinado; P. tocou nos controles, hesitante, imaginando que ELE esperava que ela ajudasse. Talvez não fosse adequado chegar à consumação de sua vida como uma pasta de fondue? A cabine deu um solavanco quando alguma coisa, na escuridão, nela bateu: era o avião de carga abandonado. Havia um lugar claro na escuridão adiante.
Ela forçou seus membros lânguidos a agirem e checou o mergulho, no instante em que o avião abriu caminho para a luz do sol.
Abaixo jazia o mar verde e frio.
Ela percebeu que estava numa vasta cratera aberta no meio das nuvens, como o olho de um furacão. Picos gelados se erguiam por toda parte; o mar aberto era apenas um canal estreito. O Norseman ainda estava indo rápido demais. Como pousar? Não importava: ELE estava ali, ELE estava logo adiante, ela agora podia sentir a SUA presença!
Ajustou os flaps, confiante: uma rajada de vento atingiu-os na ponta. Os flutuadores foram atingidos. O avião quicou e depois ficou flutuando numa rampa de gelo à beira da água. Um caminho brilhante levava à rampa e passava por detrás de um rochedo de gelo.
ELE estaria ali! ELE! ELE!
Fraca de amor, ela escalou o caminho no ar frio, mal se lembrando da sua sacola. As torres de gelo eram esculturas rústicas de topázio e viridiana contra as paredes escuras das nuvens. Quando o Norseman tocou o gelo uma rajada de vento veio forte e o avião cargueiro pousou com um estrondo. Ela se abaixou. Ele bateu com um estrondo que sacudiu os picos.
Quando o ruído passou, P. viu que havia pousado por inteiro nos rochedos sobre a rampa de pouso. Não havia fumaça...mas o que era aquilo que brilhava saindo e rolando para fora do aparelho?
Ela foi até lá... e viu que eram flores! Um acre de flores estava espalhado pelo seu caminho! Com a respiração suspensa de espanto, começou a subir o caminho, reconhecendo orquídeas, bromélias, vandas do Havaí. Pássaros vivos voavam para fora dos destroços da fuselagem: periquitos, tuins, tentilhões de todas as cores esvoaçavam ao seu redor no ar quente. Uma enorme arara azul e amarela se destacava no monte de gelo ao seu lado como o nascer do sol.
Muita coisa, muita coisa... Os olhos de P. choravam sem parar, o coração disparou. Ela se deixou cair sentada no gelo florido para recuperar o fôlego. SEU carinho, SEU amor...
Para se acalmar, passou um dedo pela plumagem azul da arara. O pássaro pulou de um pé para outro, sussurrando: “Alô, Polly.” E depois completou ruidosamente: “Foda-se a marinha.”
P. ria histericamente. Havia lindos ramalhetes espalhados a seus pés. Ela apanhou um magnífico buquê de catléias, que tinha uma faixa sobre ela: SUPERSECRETO. A FORÇA AÉREA DOS ESTADOS UNIDOS DESEJA AO SENADOR BAFREW UM FELIZ ANIVERSÁRIO.
Seu coração se acalmou; SUA corrente eletrizava por dentro, chamando-a, erguendo-a. Oh, amor, cheguei. Levantou-se incerta, segurando as orquídeas e sua bolsa. O pequeno caminho à sua frente parecia o mais longo do universo. Forçou as pernas a se moverem, para carregar o presente, que era ela mesma, para ELE. Depois daquele monte de gelo iria encontrar... o quê? Uma divindade luminescente? Uma tempestade de irradiação, um monstro divino? Com certeza encontraria SEU amor. Talvez a morte, mas isso não importava agora. Apenas ELE a aguardava.
Os olhos estavam confusos com a luz, o corpo inteiro tremia com o doce terror do sacrifício. Pombos arrulhavam, pássaros voejavam a seu redor enquanto ela caminhava pela saliência de gelo. À sua frente havia um ensolarado piso de gelo que parecia um palco. Um proscênio de gelo em forma de arco o cobria, como uma nobre entrada de uma grande e sombria caverna. Na luz do sol que batia diante do arco, havia um único objeto, cor de laranja, brilhante. Era um grande colchão ou sofá. Esperando.
P. perdeu o fôlego; visão e corpo enterneceram-se. Lá, naquela vasta cama, ela iria... ELE iria...
Levada pela SUA urgência ela avançou, sem ouvir os pássaros que cantavam. Via apenas o grande colchão do sacrifício, cada vez maior...
Seu coração parou. O colchão estava ocupado.
Da borda do colchão laranja saía um grande pé bronzeado. P. ficou olhando, piscando. O pé parecia humano. Estava muito bem formado e era grande... mas não descomunal para um humano. E, no extremo oposto, bronzeada mão descansava, elegante...
Ela respirou bem fundo, com um soluço de alívio. O último temor desaparecera. ELE havia escolhido a encarnação mais adequada à sua fragilidade. A maneira clássica.
Sem fôlego, ela caminhou até o colchão. Num instante SEU rosto perfeito apareceria, SEUS olhos encontrariam os dela.
Oh, amor, eu sou... sua... sua!
Os pés dourados jaziam imóveis, a mão estava parada.
Aproximou-se mais ainda... e então compreendeu. Em SUA gentileza ELE queria que o encontrasse num sono falso. Sua frágil criatura humana olharia para ELE, exposto, e ganharia confiança. Cheia de gratidão, com doces planos de como ela poderia “acordá-LO”, P. chegou ao colchão e olhou SUA forma.
Várias batidas de seu coração se passaram antes que ela conseguisse entender a extrema maldade. O jovem louro nu sobre o colchão não estava dormindo, mas olhando-a preocupado.
Seus olhos tontos registraram a barba por fazer, as queimaduras de sol por toda parte. A seu lado, uma garrafa de Chivas Regal.
— As alucinações estão melhorando — comentou a aparição. Sua cara e sua alma caíram no chão. Os picos de gelo giravam entre múltiplas visões do corpo blasfemo em SEU colchão sagrado.
— Ha-Ha-Hadley! — gritou, a voz esganiçada. — Hadley Morton! Não! Não! Não! Não! — Gritando, ela caiu de joelhos e socou o plástico laranja. Nããããão! Querido, onde está Você? Onde está Você? — Sua cabeça ia de um lado para o outro como se fosse louca, o corpo balançava para a frente e para trás, olhos fechados.
Mas, entre seus gritos, alguma coisa a tocava de dentro, acalmando seus paroxismos. Ela se recompôs, tentando escutar.
SUA mensagem? Sim, indiscutivelmente. Lentamente ela abriu os olhos, evitando Hadley, e levantou o olhar. O arco de gelo reluzente, os pássaros canoros... tudo aquilo ainda era verdade.
Havia sido magicamente transportada para SEU lugar sagrado.
E ELE estava ali, confortando-a. Tudo tinha de estar bem. Teria cometido algum erro idiota, não havia compreendido SEU plano.
O plástico sobre o qual ela se inclinava tinha algo escrito.
NÃO INFLE ANTES DE SAIR DO AVIÃO. SISTEMAS DE SEGURANÇA OSHKOSH. Hadley estava olhando para ela por sobre a beirada do colchão.
Ela assoou o nariz resoluta e levantou-se, deslocando uma cascata de garrafinhas de avião.
— Eu não te conheço? — Hadley franziu a testa. — Isto é, se você é real.
— Que é que você está fazendo aqui, Hadley Morton?
Ele deu de ombros de um jeito estranho.
— A mesma coisa que você, acho eu. Esperando o fim do mundo ou seja lá o que for. Escute, me desculpe. Tenho estado sob um estresse horrível, não consigo me lembrar do seu nome.
Ela disse.
— Incrível — ele parecia um entrevistador. — Puxa, parece ótima. Desculpe, quero dizer, você está vestida diferente.
— Você não. — Alisou suas peles, perguntando-se o que ELE queria que ela fizesse. Como iria se livrar daquele intruso incômodo? Hadley continuava falando, sobre como seu avião havia se espatifado no Atlântico. Vira-se só naquele bote, levado por uma corrente marítima por dias e noites entre os icebergs até ali, onde quer que fosse.
— Ontem era tudo água aqui — fez um gesto com a mão.
— As coisas mudam bastante. Tudo vai se acabar, você está sabendo.— O que quer dizer? — A parte da corrente marítima misteriosa a incomodava. Será que ELE havia levado Hadley até ali?
Por quê, por quê?
Hadley empurrou um. exemplar amassado do Wall Street Journal para ela.
— Veja você mesma. É de hoje. Veio naquele jato. Ela viu muitos aviões espalhados pelo gelo.
— Havia dois gatos siameses ali, incrível — ele balançou a cabeça. — Um bocado de aviões está chegando; o seu é o primeiro com gente. Deu pra ficar meio aéreo por um tempo. — Engoliu o Chivas e acabou com a garrafa. — Quer um pouco?
— Não, obrigada. — Passou os olhos pelas notícias de terremotos na América do Sul... maremotos, erupções... uma catástrofe na Austrália... SUA superfície tinha andado inquieta. Ora, é claro... deve ser isso que O está atrasando! Algum problema para resolver. Ela precisava ter paciência.
Tudo estava bem. P. deixou o jornal cair, olhando intrigada para Hadley. Por que ele estava ali? Será que seu grande amante achava que precisava de alguma espécie de companheiro humano? Um servo? Seria um típico presente extraordinário, desses que os homens costumam dar...
Teve uma idéia.
Será que ELE havia se lembrado (oh, Deus!) que Hadley a satisfazia antigamente? E teria possivelmente planejado usar Hadley, encarnar a SI próprio no — ela deu uma boa olhada nele — sim, ainda perfeito corpo de Hadley? Tirando as queimaduras de sol, ele parecia estar em condições realmente esplêndidas.
Soberbo, na verdade... Bem, na verdade, o que poderia ser mais adequado?
É isso, disse a si mesma, o coração pulando de alívio. Oh, amor, eu entendi. Sim, sim!
Olhou fixamente para Hadley, que agora vestia sua cueca xadrez de forma muito desajeitada. Estranho: ele fora tão charmoso quando menino. Mas o Hadley adulto era maravilhosamente bem formado de corpo; o sorriso era ainda muito cativante e, mesmo assim, sem dúvida ainda era um panaca. Bem, não importava, a personalidade humana iria embora quando ELE...
ELE assumisse o controle. Ah, era tão difícil esperar! (Rápido, querido, por favor, se VOCÊ puder...) Enquanto isso, ela podia ao menos ser educada com o coitado do Hadley, que estava tentando achar os sapatos.
Ela sentou-se na borda do colchão e perguntou gentilmente: — O que tem feito?
Ele calçou botas de cano curto.
— Gehricke e Kies, instrumentos médicos. Grande linha de proctoscópios. Acho que você não conhece. — Ele esticou a mão para apanhar a garrafa, tentando sorrir. — Ia assumir o escritório de B-Berlim.
Por trás dele, um grande animal saiu incerto da caverna.
— Hadley! Uma girafa!
— É. Tem duas, chegaram ontem. Outros bichos também. Algum carregamento para um zoológico. Levei a alfafa deles para a caverna, achei que poderiam quebrar uma perna correndo aqui fora. — Ergueu as mãos e acenou para o bicho. — Xô! Xô!
A girafa baixou a cabeça, os cascos batendo no gelo, e voltou à caverna.
— Um par de avestruzes também — Hadley vasculhou no meio das garrafas e apanhou um saquinho da Pan Am. — Também tinha um casal de canguruzinhos, mas se perderam. Não sei por quanto tempo vamos ter comida. Aceita um pouco?
Desembrulhando o sanduíche, parecia-se tanto com as lembranças que linha dele quando criança, que P. sentiu uma dor no peito. Era como ver uma lagosta viva antes de jantá-la.
— Depois, obrigada — respondeu, gentil.
— Todos esses pássaros — Hadley falou com a boca cheia, olhando ao redor. — Tem um pouco de cada tipo. Com exceção, talvez, da grandinha ali — ele apontou com o sanduíche a arara que estava afiando o bico no gelo, resmungando.
— Seus pobres pés, devíamos fazer uma proteção.
Hadley concordou.
— Há também um casal de guaxinins. E outro de gatos.
— Ele assentiu mais uma vez, engolindo o sanduíche. — Agora, tem dois de nós.
Ele sorriu.
Ela gargalhou, incrédula.
— Hadley, você não sabe o que está dizendo!
— Sei, sim. Sei que tudo lá fora está se acabando. E aqui estamos nós, seguros e aquecidos. Dois a dois. O que isso te sugere, humm? — Ele abriu outro sanduíche, olhando para ela como um cão sem dono. Suas pílulas não vão durar pra sempre. — Hadley, você está realmente pensando que pode repovoar o mundo começando com dois cangurus e uma arara? O que é que eles vão comer? Você precisa de solo e de plantas e... — Ela deu outra gargalhada. — Você acha que pode amamentar uma girafa?
— Avestruzes põem ovos — ele disse teimoso.
— Ah, isso é besteira.
Ela foi salva da ridícula discussão por uma explosão acima de suas cabeças. Outro avião saíra da muralha de nuvens e se espatifara na geleira além da caverna. O arco reverberou.
Hadley levantou-se.
— Não pegou fogo. Normalmente ficam sem gasolina. Será que tem cerveja?
— Vá ver.
Ela o viu afastar-se vestindo cueca xadrez, blusa preta e botas. Uma figura absurda em SUA gloriosa paisagem de gelo.
O grande anel de nuvens ao seu redor parecia se elevar mais e mais. O sol brilhava; os pássaros cantavam no ar adocicado.
SEU refúgio maravilhoso... só que, onde estava ELE? Por quanto tempo, amor? Ela baixou a cabeça; o desapontamento havia sido tão cruel. Mas devia ser corajosa, mostrar-se digna...
Um clique-claque despertou sua atenção. A girafa estava saindo novamente. Era macho, notou. Levantou-se e entrou na grande caverna. Por dentro era verde fosforescente, como um grande cofre. Obra de arte DELE. Para ela? A outra girafa mor-discava um fardo de alfafa. Também era macho. Um gato siamês passava com a cauda levantada; castrado.
Adeus à teoria do pobre Hadley.
Dois avestruzes andavam com passo triste na penumbra atrás dos fardos. Não parecia haver nada ali, nenhuma comunicação DELE. Por quanto tempo, ó meu amado? Onde estás?
AQUI, responderam as profundezas. FIQUE CALMA. ESPERE. Feliz além das palavras, caminhou para fora. Um guaxinim fuçava batatas fritas num riachinho de gelo derretido. Sorriu para o animal e apanhou o jornal de Hadley.
Quando ele retornou, P. lia febrilmente.
— Você não vai acreditar no que havia naquele avião. — Seus braços estavam cheios de comida congelada e garrafas de vinho. — Uma porra de sequóia, imagine. Uma árvore enorme e velha, com raízes e tudo, embrulhada. Doideira. — Sentou-se e começou a abrir o vinho.
— Hadley, você sabe o que significa o termo perturbação orbital?
— Sei, terremotos, isso tudo. Eu disse que está tudo explodindo. Um meteoro vai atingir o pólo sul. — Ele estudou o rótulo. — Maçã, nastúrcio e ginseng. Jesus.
P. levantou os olhos, o rosto exaltado.
— Escute, Hadley. Perturbação orbital significa que a Terra vai deixar SUA órbita atual. Estão tentando não dizer isso, mas está tudo aqui. E não são meteoros. Arecibo estima que o que chamam de planetóide errante possui mais massa que a Terra. Hadley bebia, olhando para ela.
— Não vai nos atingir, você não entende? Só está chegando perto o bastante para nos afastar do sol.
Ele enxugou a boca.
— Se é tão grande, por que não podemos vê-lo?
— Porque seu periélio está muito ao sul; não há muitos observatórios por lá. E seu albedo é baixo.
— Você sabe um bocado, não sabe? Ela se levantou, assustando os pássaros.
— Hadley, a Terra está saindo de perto do sol. Nossa atmosfera vai congelar. Tudo vai morrer, tudo. Instabilidde da crosta. Os continentes provavelmente vão se partir.
— Fim do mundo — ele suspirou. — Eu lhe disse.
— Fim? Não: o começo! — Ela levantou o rosto em êxtase para o sol que brilhava brando sobre a muralha de nuvens. — ELE finalmente está se libertando. Finalmente! Oh, meu querido!
— Ainda nisso? — Hadley observou. Ela franziu a testa.
— O quê?
— Você e sua comunhão com o deus da Terra ou seja lá o que for.
— Eu nunca lhe contei isso!
Ele deu uma risada contida.
— Ah, qual é. Você era uma menina bem estranha. — Ingeriu outro gole, e tremeu. — Mas tinha uma bunda incrível. Não dá para negar.
Ela virou-se, furiosa, e depois conferiu seu corpo. Ele não conseguia evitar ser assim tão repulsivo.
— Tente pensar, Hadley. Você não percebe nada de incomum? Tem certeza?
Ele esfregou o rosto queimado de sol e cheio de pêlos.
— Por que é que você acha que eu fiquei tão acabado? — perguntou com grosseria. — Voando naquele caixão, todo mundo morto, como um maldito sei-lá-o-quê voador. Vi coisas... talvez você nem esteja aqui de verdade.
— Eu estou aqui. É o plano DELE. Você verá.
— Totalmente maluca. — Ele balançou a cabeça loura, e de repente mostrou os dentes. — Também tenho um plano. Enquanto há vida há tesão.
Ela pulou para longe de seu alcance bem a tempo.
— Hadley!
Mas ele havia parado e olhava além dela.
— Aquelas nuvens estão se aproximando!
Ela se virou e viu que a muralha de nuvens que os cercava parecia ter se fechado: o espaço aberto era menor. Prudentemente, afastou-se do pobre Hadley pelo caminho de onde viera. Os pássaros voavam num bando só, em direção à caverna. Um canguruzinho vermelho pulava atrás deles entre as placas de gelo.
A outra extremidade da água estava agora encoberta numa encosta espumante de neblina cinzenta, com cores brilhantes de crepúsculo em sua crista. Assustador... Entre todas as catástrofes que estavam acontecendo, ELE havia lhe feito aquele santuário, distante dos piores efeitos do planeta que agonizava.
Ou quem quer que fosse aquele misterioso estranho que ELE seguiria... ela parou. Chega de ciúmes! Não com as provas de SEU precioso amor à sua volta. Pense apenas em partilhar SUA sagrada libertação, a aurora de SUA nova vida.
Que maravilhoso... Enquanto P. caminhava de volta ao arco, ocorreu-lhe, subitamente, o pensamento de que ELE poderia ser bem jovem. Cinco bilhões de anos? Talvez ainda estivesse apenas em SUA divina infância!
Ela sorriu com uma nova volúpia materna, reparando que Hadley estava todo curvado, ressonando ruidosamente. Ora, ele estava chorando. E segurando uma carteira aberta, correndo os dedos pelas fotografias. Que delicadeza de SUA parte enviar bebidas para aliviar o pobre Hadley, enquanto esperava a extinção chegar.
— Tome mais um pouco de vinho, Hadley.
Enquanto ele bebia, ela o estudava. Magnífico. Hadley havia realmente mantido a forma. Como ficaria aquele corpo quando ELE o assumisse, e o transfigurasse com a SUA glória? Seu corpo entregou-se à volúpia; para se distrair, desviou o olhar para os animais e pássaros que agora se agrupavam na caverna. O espaço à frente do arco estava cheio de belas criaturas.
Seria possível que ELE tencionasse preservá-las em algum lugar inimaginável que ELE havia planejado para ela? Uma idéia adorável. Talvez tivessem de ser realmente preservados, isto é, congelados. Uma pena. Mas eram apenas animais.
Apanhou um sanduíche e começou a jogar migalhas aos pássaros, vendo as espirais rosadas de gelo que os cercavam caírem uma a uma à medida que as nuvens as engolfavam. A arara desceu, gritando: “Marinha? Polly?” A luz estava mudando, escurecendo para tons estranhos de marrom e violeta.
— Estou com frio — gemeu Hadley.
— Não se preocupe. Tudo vai ficar bem.
O ar estava ficando gelado. E a grande muralha de nuvens havia chegado bem perto. Suas peles ficaram arrepiadas com a eletricidade. Ela percebeu que o ar estava todo carregado de tensão. Logo! Vai acontecer logo!
— Cristo! — exclamou Hadley, ríspido. — Como eu gostaria de nunca ter te conhecido!
Por um instante, o medo dele a contaminou. Olhou para as colinas de nuvens. Estavam para cobrir o sol. Será que voltaria a vê-lo novamente, e aos céus azuis? Um bramido fez o gelo sob seus pés estremecer. O pânico deu um nó em sua garganta. Era ELE que chegava? SUA imensidão... um deus que a amava...
Um espirro a trouxe de volta do terror. Era a arara, cambaleando para a caverna. Atrás dela vinha um guaxinim com uma flor na boca.
— Oh, por favor, salve-os — P. sussurrou.
Ela e Hadley agora estavam sozinhos, iluminados pela última luz do sol. O gelo bramiu novamente.
— Está vindo nos buscar — disse Hadley, sério. — Olhe...
O colchão laranja afastava-se deles silenciosamente. P. percebeu que estava sendo puxado por pequenas raposas-do-ártico. Elas o arrastaram para dentro da caverna e se deitaram, cansadas.
— Meu Deus — disse Hadley, com a voz esganiçada. — É um zoológico. Alguém está nos reunindo. Não... não entre lá.
Nesse momento o sol piscou, engolido pela nuvem que se aproximava. Um som quebradiço rolava ao redor deles. Estava começando. ELE eslava se libertando. P. pensou no terrível pandemônio que devia estar destruindo as míseras cidades dos homens. SEU fogo explodindo, cidades inteiras caindo.
De repente, alguma coisa se enfiou entre suas nádegas.
Ela se virou. Um ursinho polar estava apontando o nariz para seu ventre. Ela tropeçou para trás, em direção à caverna, atropelando Hadley. O urso os seguia, esticando seu pescoço comprido. — Quer que a gente entre — disse Hadley, sem forças. Entraram juntos, P. fumegando de indignação. Realmente, ser feita de boba justo nesse momento! Mas quando sua perna bateu no colchão, a indignação desapareceu. Como ELE era infantil, como era... como era Terreno! Atiçando-a com submissão sexual, ela mergulhou no bote acolchoado.
O urso parou. Uma profunda rachadura partiu a caverna, e a entrada, onde haviam estado, recebeu uma torrente de gelo.
P. sentiu o braço de Hadley apertá-la nos quadris. Ela se desvencilhou e pôs-se de pé.
— Francamente, Hadley!
— Cuidado! — ele apontava atrás dela. O urso branco avançava novamente, com os dentes à mostra. Ela voltou a se sentar. Ele parou.
— Está vendo? — disse Hadley, numa voz alta, anormal.
— O quê?
Só o silêncio foi a resposta. As criaturas ao seu redor ficaram anormalmente quietas, o movimento de vida se aquietava no cofre de luz verde. P. estremeceu; o calor também parecia estar se esvaindo. Feixes de luz apocalíptica passaram pela entrada da caverna, o gelo gemeu longe e parou. Será que ELE finalmente iria entrar?
A arara gritou, dando um salto. “Fodam-se!”, guinchou e caiu dura.
— É isso — disse Hadley. Estava ajoelhado no centro do bote. — Terminaremos como começamos. Tire tudo.
Ele abriu suas peles e agarrou um seio.
Ela deu-lhe um safanão e tentou fugir dele dentro do bote de plástico laranja, perturbada pelo urso. Hadley caiu-lhe em cima, agarrando suas coxas.
— Você está louco? ELE está chegando... Você não sabe que eu sou DELE? Pare, ou ELE vai... ELE punirá você.
Hadley deu um sorriso horrível, como um cão cansado; suas mãos estavam frias e tremiam. Lá fora, os trovões rimbombavam.— Ele não vem, princesa. Está indo embora. Estamos mortos. — Lambeu os lábios. — Lembre-se apenas que eu também cheguei aqui. Eu diria que ele nos quer. Rápido! — E rasgou as roupas dela.
Desesperada, ela o chutou. Subitamente, para seu alívio, um globo de luz violeta apareceu na boca da caverna e flutuou em sua direção. Hadley gemia; a luz flutuava atrás dele como um halo.
Aquele era o momento! ELE iria assumir o controle de Hadley! O ar estava terrivelmente frio agora, mas uma corrente se movia em seu estômago, tensionando seu sexo. Oh, amor, é você finalmente?
A corrente pulsou mais forte nela, como uma invisível mão. Viu que o urso branco havia apanhado seu sapato e o levava para longe. Caiu no gelo e ali ficou... Amor?
SIM.
Oh, sim! Sim! Sim! Amor! Loucamente, ela fez seus dedos dormentes descerem pelo fecho de seu vestido de seda cor de ametista, os olhos no rosto de Hadley. Amor, mostra a TI MESMO! Suas roupas caíram, deixando entrar mais frio. Hadley tremia como um golem, tentando libertar uma ereção gigantesca do short.
— Deus, está frio. Ve... venha! — O rosto ainda era do mortal Hadley, boca tremendo, olhos fixos de medo. Mas o halo pareceu aumentar seu brilho. Rápido, amor!
Dentes batendo, ela tirou o delicioso tapa-sexo e, naquele momento, percebeu a mudança do rosto de Hadley. Mas — oh! — não era a mudança que ela esperava; era apenas sua fisionomia desmoronando, as lágrimas brotando e rolando pelo queixo. Ele rasgou a cueca e as lágrimas lhe caíram sobre a glande, enormemente intumescida. Uma dúvida terrível se abriu no espírito da jovem.
— Pare, Hadley, pare!
Mas ele se atirou pesadamente em cima dela, as mãos geladas abrindo com maestria suas pernas, penetrando-a de forma brutal, o rosto enterrado em seu pescoço.
Ela se contorcia, tentando ter esperança. O que estava dentro dela seria a sonda de um deus, essa dor gelada? Seu corpo estava congelando... e mesmo assim ela podia sentir seu sexo se movendo mecanicamente, motivado por um fogo gelado, respondendo às estocadas de Hadley em agonia. Estaria morrendo?
Ela percebeu que Hadley estava gemendo um nome enquanto a apertava e amassava: um nome de mulher, Jenny ou Penny. O horror tomou conta dela. Não havia nenhum deus dentro dela, mas simplesmente um Hadley Morton dez anos mais velho.
— Socorro! — gritou para a escuridão gelada. — Oh, amor, ó meu deus, onde está Você?
E, assim como antes, o enorme silêncio respondeu. AQUI.
EU ESTOU AQUI.
— Salve-me!
Mas o desejo frígido em seu ventre apenas aumentou insuportavelmente, seu sexo se batia e se esmagava contra Hadley como se ambos fossem bonecos em cima de uma grelha. Ela gritou e gritou sob o peito gélido de Hadley.
BOM. BOM. CONTINUE. ESTOU AQUI.
Uma terrível compreensão paralisou seus gritos.
ELE não viera possuí-la. ELE estava do lado de fora... um espectador. ELE queria isto, apenas isto!
Tristeza e degradação mais frias que o gelo tomaram seu coração. Ela gemeu desesperada, as costas deslizando no plástico congelado. O ataque de Hadley estava mais lento agora, seus próprios movimentos inconscientes estavam diminuindo. Como brinquedos sem pilha. Suas lágrimas haviam congelado contra a carne de Hadley.
Estavam morrendo. Quando ela percebeu isso, surgiu um longo espasmo agonizante e agarrou seu sexo e estremeceu seus ventres reunidos.
BOOOOOOM — disse o vácuo inumano.
E com isso sua última ilusão caiu por terra. ELE nunca a amara, ELE não a queria de forma alguma. O que ELE queria era isso: ela e Hadley. Um brinquedo, uma diversão que de alguma forma havia atraído sua atenção naquele verão muito distante, que O havia excitado. ELE queria simplesmente colocá-los juntos novamente.
Todo o resto, todo o diálogo de amor que havia durado toda uma vida... era tudo lixo.
As lágrimas eram pedras de gelo em seus olhos; os lábios estavam recobertos de gelo. Fagulhas geladas alfinetavam suas coxas abertas. Neve. Agora, não havia calor nenhum, a grande caverna jazia profundamente escura e silenciosa. Hadley parecia ter parado de respirar. Um impulso perdido de solidariedade humana a moveu; ela tentou apertar suas costas, mas suas mãos estavam congeladas. Presa embaixo de seu corpo frio, ela aguardava a morte.
Iriam para o espaço com ELE, lubricamente juntos pela eternidade. Juntamente com as formas congeladas de girafas, flores, pássaros, uma sequóia... o que quer que O tivesse divertido entre as efêmeras criaturas de SUA pele. Não um zoológico.
Um museu...
A neve se acumulava ao seu redor agora. A caverna estava ficando cheia, ela pensou. Muito quieta... Muito fundo... Nos axônios enregelados de seus cérebros, as crostas iônicas formaram seu último pensamento fraco e se estabilizaram para sempre.
...E COM IMENSA E PAUSADA ALEGRIA O SER MUITO JOVEM QUE FORA CONHECIDO COMO TERRA SE DESCOBRIU CAPAZ DE RESPONDER AO CHAMADO DE SEU NOVO AMIGUINHO E, ANTES GUARDANDO ALGUNS TESOUROS ESPECIAIS DE SEUS DIAS DE INFÂNCIA, ELE FINALMENTE SE LIBERTOU DE SUA ÓRBITA MONÓTONA DE NASCENÇA PARA BUSCAR AVENTURAS ENTRE AS ESTRELAS.
ASSIM COMO NOS PERDOAMOS A QUEM NOS TEM OFENDIDO – Deborah Wessell
Lá pela ocasião do seu qüinquagésimo aniversário, padre Malone parara de pedir em suas orações que se realizasse o seu maior desejo. Quando jovem, pedia a eloqüência e o carisma que inspirariam os garotos de sua paróquia a seguirem seu caminho para o sacerdócio. Agora, na qualidade do velho, mas atuante, sacerdote da igreja do Santo Rosário, tinha coisas muito mais importantes por que rezar, e freqüentemente estava ocupado demais para qualquer tipo de oração.
Mas às dez horas daquela manhã especial, mesmo que apenas um pouco de eloqüência teria sido de ajuda para o padre Malone. Todo mês de junho ele fazia um discurso comovido e titubeante para a turma de crisma do Santo Rosário, e o deste ano foi ainda menos bem-sucedido que de costume. O bispo Davison viria de Boston no dia seguinte para administrar o sacramento, e o padre Malone deixou bem claro que esperava que os jovens se comportassem como nunca durante sua aceitação como membros adultos da Igreja. Depois passou quinze minutos exortando-os a examinar seus objetivos na vida, e a comparar esses objetivos com o ideal cristão. Enquanto isso, a turma examinava as carteiras, as roupas pomposas de cada um e especialmente o relógio na parede atrás dele.
— Então é isso, meninos e meninas — concluiu padre Malone, subitamente cansado do som da própria voz. — Vocês deveriam buscar... ahn... inspiração, em seus pais e professores, e acima de tudo nos ensinamentos do Senhor Jesus, e não nesses cantores de rock e artistas de cinema que...
Um garoto deu uma risadinha, aparentemente por causa de outro garoto que estava imitando um guitarrista, e as meninas sentadas perto dele começaram a rir. Irmã Anne, montando guarda no fundo da sala, viu tudo e deu um passo na direção deles, mas o sacerdote fez que não com a cabeça. Terminou o discurso sem alterar o tom de voz e se retirou, mal ouvindo o agradecimento cortês da irmã.
Na sala de estar da reitoria, naquela noite, padre Malone escolheu a poltrona incômoda de tweed, aquela que não o deixava cochilar, e se sentou para um raro momento de reflexão, a fim de considerar o trabalho da semana, ainda incompleto. E sua maior parte, trabalho administrativo, fragmentos de tempo e esforço envolvendo orçamentos, projetos, relatórios de comitês, intermináveis ligações telefônicas, tudo parte dos planos e sistemas maiores que mantinham ativa uma moderna paróquia de duas mil almas.
Padre Malone era um excelente administrador. Só desejava ser um sacerdote melhor. Fixou os olhos na direção da janela aberta; da poltrona só conseguia ver os topos dos bordos que margeavam o parque do outro lado da rua, e uma tranqüila faixa vazia de céu prateado de fim de tarde. Não exatamente um sacerdote melhor, porém mais terno, mais articulado, do tipo que transmite afeição e lealdade assim como respeito. O velho padre Simmons conquistou toda a sua lealdade quando ele era garoto; na verdade, fora quem o inspirara a abrir o coração para receber o chamado da Igreja. Nos dias de hoje, uma vida de serviço e sacrifício seria a última coisa em que os adolescentes pensariam.
Ou será que não, se o padre Simmons ainda estivesse por perto?
Um homem eloqüente faria tamanha diferença...?
— É uma pergunta interessante, padre — disse o bispo, que pareceu sair do nada, uma silhueta esguia emoldurada pela claridade da porta que dava para o salão.
Padre Malone engasgou e encolheu-se na poltrona; em seguida, levantou-se e obrigou os dedos vacilantes a acenderem a luz.
— Mil desculpas — disse, forçando um sorriso que o fazia parecer ainda mais bobo.
O bispo era um estranho para ele; será que havia esquecido um encontro?
— Devo ter... parece que eu... ahn... acabei cochilando. Acho que não vi o senhor entrar...
— Claro que não.
O sorriso do estranho era desconcertante; seu aperto de mão, frio mas firme.
— Posso me sentar?
— Sim, perdão, por favor.
A cerimônia da crisma, claro, era isso. O bispo Davison era velho, será que havia ficado doente?
— O senhor está se perguntando — disse o bispo — se estou aqui representando o bispo Davison. Está intrigado pela minha chegada súbita, e um pouco aborrecido porque sua governanta, a Sra. Reardon, permitiu-me surpreendê-lo cochilando. E está vasculhando a memória, tentando recordar se já nos conhecemos.
O padre enrubesceu. —, Receio que...
— Não receie.
O bispo levantou a mão e o padre Malone calou-se. Era como se estivesse sendo suavemente pressionado contra a poltrona. O bispo era um homem bonito, grisalho e digno, com algo de brilhante e fixo nos olhos.
— Não receie — repetiu. — Estou aqui apenas para discutir os problemas da Igreja com o senhor, para propor algumas soluções. E também uma solução para o seu próprio problema.
— Meu?
— Sim, o seu. Sua incapacidade de se comunicar com os jovens. Sua, vamos dizer, falta de eloqüência no púlpito. O senhor deixa as pessoas pouco à vontade, padre. Não as alcança.
Padre Malone piscou os olhos rapidamente e balançou a cabeça. Parecia não conseguir ordenar os pensamentos.
— E, no entanto, quer sinceramente alcançá-las, não quer? — continuou o bispo. Sua voz era calmante, impossível de recusar. — Deseja, mais do que qualquer coisa, erguer-se acima de suas tarefas administrativas a ser um farol para sua paróquia. Quer inspirar os jovens a seguirem seu caminho e entrarem para o sacerdócio. Não é isso, padre? Não é esse seu maior desejo?
O padre tentou se levantar, mas o peso aumentou.
— Asseguro-lhe que é um objetivo de valor — disse o bispo num tom mais caloroso. — A falta de sacerdotes neste país é desanimadora. Em 1967... Desculpe a pequena palestra... Em 1967 havia sessenta mil sacerdotes nos Estados Unidos. Hoje, apenas quarenta e cinco mil, para ministrar a uma população de fiéis muito maior! O senhor sabe a média de idade dos padres americanos hoje? Sabe?
Padre Malone não pôde se permitir ser grosseiro.
— Bem... ahn... minha própria idade? Cinqüenta?
— Cinqüenta e nove anos. Cinqüenta e nove! — O bispo batia com a mão no braço de sua poltrona a cada palavra. — Perigosamente próximos da aposentadoria, meu amigo. E o que acontecerá quando eles todos se aposentarem? Quem os sucederá nas fileiras para fazer a obra do Senhor?
O sacerdote balançou a cabeça em silêncio. Era uma pergunta que ele já se havia feito, com um travo de amargura, à medida que os anos passavam e os jovens das turmas continuavam a ignorar suas palavras. Ou a rir delas.
— Eles riem do senhor, sim — falou o bispo com suavidade, de maneira simpática. — Mas não de sua fé, padre. Riem de sua maneira, de sua postura. As pessoas, especialmente os jovens, fazem julgamentos superficiais atualmente. O senhor parece frio e insincero para eles. Na verdade, para todos os seus paroquianos.
Padre Malone desviou o olhar, envergonhado de ouvir a verdade. Quem quer que fosse o visitante, por mais estranho que parecesse aquele confronto, o homem sabia a verdade.
— Eu sei de muita coisa, padre. Sei que sua vida está para mudar.
Padre Malone olhou para ele alarmado.
— Minha missão aqui... não vai... ahn... eu não estou sendo trans...
— Não, não, nada disso. Estou simplesmente lhe oferecendo uma oportunidade.
O bispo meteu a mão no bolso e retirou uma caixa prateada. — Desculpe-me novamente. Costumávamos fazer esse tipo de coisa com visões, e vozes vindas do ar, mas hoje em dia isso aborrece as pessoas. A tecnologia é muito mais confortável.
Apontou a caixa para o aparelho de televisão no canto da sala. Uma cena apareceu na tela, impossivelmente clara em cada detalhe, quase viva. Padre Malone olhou a pequena e brilhante imagem de si próprio sentado à cabeceira da mesa de alguma reunião formal. Era ele, mas com o cabelo completamente grisalho, as mãos um pouco trêmulas, o rosto cheio de rugas. Ele mesmo, só que velho.
— É a sua festa de aposentadoria. O senhor está na casa dos setenta, preste atenção nos seus companheiros de jantar.
Havia uma dúzia deles, padres e seminaristas, com idades que variavam desde a juventude até a meia-idade. Todos olhavam para o padre Malone (para sua imagem na tela), sorrindo e brincando entre si, mas sempre com a atenção voltada para ele.
Havia admiração em seus olhos, e amor.
— Seus “discípulos”, padre Malone. Uma pequena brincadeira que todos compartilham. Quero dizer, irão compartilhar. Todos eles são homens chamados ao sacerdócio por sua causa. E há outros! O mais novo, creio, tem dez anos de idade nessa época no futuro. Pense no vasto bem coletivo que eles conseguirão, graças ao senhor.
Moveu mais uma vez a caixa prateada; a tela escureceu.
E o padre conseguiu se levantar, apesar do peso que o pressionava. — Quem é o senhor? — perguntou, chocado com o medo na própria voz. — O que é tudo isso?
O bispo continuava sentado.
— Eu sou o demônio — respondeu, com um sorriso tranqüilizador. Ou melhor, uma extensão de um demônio. É bem mais complicado do que vocês, pessoas, imaginam. Selecionei esta persona em particular para que o senhor fosse influenciado pela minha aparência e me ouvisse. Funcionou muito bem, não acha?
— Estou sonhando. Estou dormindo.
— Claro que sim. Mas posso lhe assegurar que não vai acordar até terminarmos nossa conversa. Não está curioso quanto à minha oferta?
O bispo — era difícil pensar nele com qualquer outro nome — cruzou as mãos frias e esperou. Padre Malone caminhava na sala, tentando recuperar o raciocínio. Caminhou até a porta que dava para o salão, e então se voltou.
— Suponho que vai me explicar do que se trata — ele se descobriu dizendo. — Vá em frente.
— Tudo o que queremos — falou o bispo, lentamente —, tudo o que queremos é uma alma. Apenas uma.
— A minha. Quer que eu venda minha alma.
— Não, para falar a verdade, não é a sua. A de outra pessoa. Ele moveu a caixa prateada mais uma vez. Agora as imagens apareceram mais escuras, figuras descendo por uma rua à noite.
Uma delas, um rapaz adolescente, parou e pareceu olhar, de dentro da tela, para o padre Malone ali na sala.
— Anthony da Silva — disse o bispo. — Tony. Reconhece?
Era um rosto típico de uma vila de pescadores da Nova Inglaterra: jovem, moreno, ascendência portuguesa. Mas este rosto tinha uma arrogância viva, que de certa forma parecia familiar.
— Talvez — respondeu o sacerdote. — Ele é da minha paróquia?— Teoricamente. A última vez em que assistiu à missa tinha doze anos. Agora tem dezessete. Quebrou o vidro do seu carro com uma bola de beisebol, alguns meses atrás, e o senhor chamou a atenção dele na frente dos amigos. Na época, o senhor se perguntou se ele havia feito de propósito.
— Agora me lembro.
Sim, padre Malone ainda podia se recordar, nem tanto do rosto do garoto, mas da sua ironia: Desculpe, “padre”. Que vergonha, “padre”.
— O senhor estava certo, ele fez de propósito — disse o bispo. — Mas já fez muito pior, e fará coisas piores ainda, conforme verá muito em breve. O senhor não terá dificuldade em cumprir sua parte no nosso trato.
Quando a imagem desapareceu novamente, os olhos desdenhosos do garoto pareceram acompanhar padre Malone pela sala. Vou acordar agora, pensou. Isto é um pesadelo idiota e eu vou acordar.
— Não farei isso! — falou, mais alto do que deveria. Mas não importava; como é que poderia acordar a Sra. Reardon, se estava sonhando? — Claro que não farei. Aliás, nem poderia. Não posso controlar a alma de outro homem.
— Mas pessoas como Tony não controlam suas próprias almas. Tais pessoas sequer acreditam que possuem alma. E não adianta imaginar que elas lhe deram poder de julgamento, pois poderia dar tudo de si para condenar a alma de Tony, e ele simplesmente riria do senhor, conforme já fez antes.
— Mas por que esse garoto, o da Silva? E por que não deixar que ele se condene sozinho?
O bispo inclinou a cabeça para o lado, sábio e divertido.
— Basta dizer que isso seria conveniente para nós, e muito pouco inconveniente para o senhor. Simplesmente ajude-o enquanto ele mesmo abre seu caminho para baixo. Uma palavra aqui, fazendo vista grossa ali. É tudo. E receberá tanto em troca! Novos soldados para a Igreja, discípulos leais para o senhor. Seu maior desejo realizado, e por seus próprios esforços.
— Não.
— Pense a respeito.
— Não!
— Vai acordar agora, padre. Gostei da nossa conversa. Eu voltarei...
— Pelo amor de Deus, padre! O que o senhor está fazendo com a televisão ligada no meio da noite?
O bispo de partida havia instantaneamente se transformado na figura corpulenta da Sra. Reardon, enrolada num roupão de pelúcia rosa. Ela silenciou o ruído de estática da televisão e olhou-o com seu costumeiro ar de amável desaprovação. Nada que ele fizesse agradava à Sra. Reardon.
— Não há programas na televisão a esta hora. O senhor dormiu na poltrona outra vez, não foi?
— Foi, acho que foi. Vou apagar as luzes. Sra. Reardon? — Ela se voltou da porta. — Tivemos alguma visita esta noite?
— Não, ninguém. — Ela franziu a testa, em seguida deu de ombros. — Engraçado. E também não recebemos nenhum telefonema. Foi bom ter um pouco de paz e tranqüilidade, não foi?
Padre Malone não teve paz pelo resto daquela noite. Cada palavra de sua conversa com o bispo — o demônio, ele se corrigiu — ecoava e tornava a ecoar em sua cabeça, junto com mil perguntas. Por que as forças do mal haviam escolhido logo ele, um simples padre de uma simples igreja, para tentar com aquele trato absurdo? Seria alguma fraqueza que havia revelado em sua fé? Será que o sonho secreto de inspirar os jovens de sua paróquia era pecado?
Mesmo quando se sentou para ajeitar as cobertas mais uma vez, a imagem da tela de televisão parecia flutuar acima dele, tornando-se cada vez maior, mais real. Podia imaginar, com toda a clareza do desejo, como seria receber a admiração dos homens àquela mesa, a satisfação de ter trazido novos sacerdotes pela força de sua própria eloqüência. E a influência que ele teria, o bem que faria! Isso iria se prolongar décadas além do fim de sua vida, enquanto aqueles sacerdotes continuassem com suas carreiras e lhe reverenciassem a memória. Em comparação, a imagem de Anthony da Silva parecia fraca e esmaecida.
No final, tomou uma decisão. Não sobre a barganha com o diabo, claro. Era impensável sacrificar uma alma, qualquer alma, não importava quão magnífica fosse a tentação. Ele não a consideraria nem por um momento. Sua decisão era consultar o padre Joseph Barnett, seu assessor espiritual, que se encontrava com ele uma vez por mês para ouvi-lo em confissão e discutir o estado de sua alma. Padre Malone não gostava de seu conselhei-ro designado, jamais gostara; Barnett era um velho baixinho e impaciente, com uma risada que mais parecia um latido. Pensou em falar com o bispo Davison, em vez de com o padre Barnett.
Mas não, o bispo não chegaria antes do meio-dia, apenas uma hora antes das cerimônias de crisma, e padre Malone tinha de consultar alguém imediatamente. Ainda assim, continuava na cama. Chamar o padre Barnett agora, tirá-lo de seu sono tranqüilo e satisfeito e tentar explicar o que havia acontecido... Padre Malone sabia que soaria vacilante e bobo, como uma criança que, acabou de ter um pesadelo, e Barnett riria dele. Não. Pela manhã, quando pudesse dominar seus pensamentos, ligaria.
Pela manhã, naturalmente, com a luz de junho entrando, filtrada pelos bordos, e mil detalhes a resolver para a missa da crisma, acabou não fazendo nada. Chamar o padre Barnett porque havia tido um pesadelo? Expor ao ridículo suas mais secretas ambições? Claro que não. Padre Malone fez um voto de começar a dormir mais cedo e ter um sono adequado em sua própria cama, e prosseguiu os afazeres do dia.
Após um desjejum apressado, a primeira ordem de serviço era abrir a igreja antes que as senhoras da Sociedade do Sagrado Nome chegassem com os arranjos de flores. Com sua cerca branca e seu modesto campanário, a igreja do Santo Rosário era uma igreja como as outras, mas padre Malone orgulhava-se de suas boas condições e aparência limpa, resultado de seus esforços como gerente financeiro. Destrancou as portas principais, abriu-as para o sol, e entrou.
Primeiro sentiu o cheiro, antes que os olhos se acostumassem à escuridão. Um cheiro ruim. E então teve a visão da blasfêmia. A igreja, sua igreja, havia sido invadida por vândalos. Padre Malone viu primeiro os detalhes pequenos, e depois o maior ul-traje, o imperdoável. Hinários rasgados e espalhados pela nave central, e um suporte de ferro forjado para velas votivas estava derrubado no chão numa confusão de vidro estilhaçado. Os grandes candelabros de aço da capela de Nossa Senhora estavam no chão, e a imagem da Virgem jazia, com o rosto quebrado, atrás do pequeno altar. Padre Malone se aproximou cautelosamente da capela, já quase em lágrimas. Então, quando se abaixou para recolher Maria, os olhos captaram um brilho colorido. Na parede atrás dele, pintados com spray em grandes letras vermelhas escorridas, estava uma série de desenhos sujos e símbolos sem sentido, e as palavras VÁ SE FODER, MALONE.
— Padre? Oh, padre!
A Sra. Reardon se achava em pé na porta principal, rígida, como se estivesse com medo de entrar. Ela olhou para o padre Malone, e pareceu descobrir algo a temer no rosto dele também.
— Padre, o bispo Davison chegou.
No fim das contas, eles acabaram dando um jeito, e a missa da crisma foi celebrada, só que com três horas de atraso, numa igreja com uma capela vazia e cheiro de tinta branca fresca no ar. O bispo Davison foi assegurado de que esse tipo de coisa nunca acontecera antes na igreja do Santo Rosário, e que o padre Malone era geralmente amado por seus jovens paroquianos. Uma ocorrência isolada, todos concordavam, terrivelmente infeliz mas não muito rara nesses tempos difíceis. A polícia disse a mesma coisa.
— Pode ter sido um garoto com uma questão pessoal com o senhor, padre Malone — disse o alto e pachorrento tenente que foi à reitoria naquela tarde. Ele olhava o relatório feito pelo policial que atendera a ocorrência. — Estou vendo que eles usaram seu nome, especificamente. Bom, mas de qualquer forma seu nome está na placa em frente da igreja. Eles forçaram a porta lateral com muita facilidade, talvez procurando algo para roubar, uma caixa de donativos, e quando não encontraram muita coisa, ficaram malucos. Os garotos ficam. A não ser que o senhor tenha alguma idéia de quem poderia ter feito isso. Há alguém que o senhor conheça?
— Não — respondeu padre Malone, fechando os olhos para a imagem daquele rosto arrogante na televisão. — Não, não tenho a menor idéia.
Mas a suspeita cresceu nele por toda a semana, e com ela uma raiva fervente. Pediu ao secretário da igreja, como que casualmente, para checar a família da Silva. Pai morto, mãe membro da Sociedade do Sagrado Nome, filha nas aulas de catecismo. O filho Anthony nunca fora crismado. Depois de uma série de problemas com a lei, ele não vivia mais em casa, não tinha endereço, não havia como encontrá-lo. Quem era esse garoto arrogante para danificar a propriedade do padre Malone, assombrar seus sonhos, e agora — padre Malone tinha certeza —, agora profanar a igreja e causar embaraços a seu sacerdote? Outro desses jovens que querem recompensas instantâneas sem qualquer sacrifício. Não havia como alcançar nenhum deles.
Na missa do domingo seguinte, padre Malone parou um momento, folheando as notas de seu sermão. Depois, colocou-as de lado e falou de improviso. A congregação tinha mais do que sua parcela de pessoas idosas, em sua maioria viúvas, mas também havia famílias, com crianças de todas as idades. O sacerdote esquadrinhou os rostos, principalmente dos adolescentes, e falou como se fosse para cada um deles em separado.
— Todos vocês sabem o que aconteceu aqui na igreja do Santo Rosário domingo passado. Alguém invadiu a igreja de noite e se divertiu. Achou divertido rasgar os hinários com os quais cantamos, e quebrar a imagem da Santa Virgem Maria, e rabiscar palavras obscenas nas paredes da casa de Deus. Eles queriam rir, e conseguiram.
A igreja estava em silêncio. Padre Malone podia ouvir as batidas do seu próprio coração.
— Bem, meninos e meninas, acho que quem ri por último somos nós. Acho que o alvo da risada é sempre quem tem de recorrer a tal comportamento bárbaro para achar alguma satisfação em sua vida vazia. Porque eu sei quem realmente achou alguma satisfação no domingo passado. Foram os voluntários da nossa paróquia, que limparam a sujeira e repintaram as paredes. Foram nossos paroquianos, que trabalham duro para fazer da igreja do Santo Rosário uma comunidade que serve a Deus e ajuda seu povo. E foram todos vocês, jovens, que podem ter a satisfação de rejeitar este tipo de comportamento deplorável, e se juntar a seus pais e amigos no trabalho da igreja. São vocês que rirão por último, porque são vocês que viverão vidas plenas no amor de Deus, e se juntarão a Ele na vida eterna...
Padre Malone falou por vinte e cinco minutos, e ninguém se mexeu. No final da missa, quando apareceu na porta da igreja para cumprimentar os poucos paroquianos mais velhos que às vezes desejavam trocar uma palavrinha com ele, achou, em vez disso, uma pequena multidão que o olhava de uma forma que ele nunca vira antes. Recebeu inúmeros apertos de mão.
— O senhor disse tudo, padre.
— O senhor tirou as palavras da minha boca, padre. Fiquei feliz pelo Bruce aqui ter voltado da faculdade e poder ouvi-lo.
— Há alguma coisa que possamos fazer para ajudá-lo, padre? O senhor já começou a coleta de dinheiro para uma nova imagem da Virgem?
E, por fim, uma voz mais nova, de um garotinho corado: — Padre, posso falar com o senhor outra hora? Quero ser coroinha. Mamãe disse que eu podia pedir ao senhor.
— Claro que pode, meu filho.
Padre Malone queria abraçar aquela criança e chorar, mas apenas deu-lhe um tapinha no ombro, com a mão trêmula.
— Claro que você pode falar comigo.
Pela ocasião de seu qüinquagésimo primeiro aniversário, padre Malone tinha tanta coisa para fazer como sempre, mas desincumbiu-se de tudo com o coração mais leve. A capela de Nossa Senhora fora restaurada havia muito; a igreja do Santo Rosário tinha três novos coroinhas; longas e pacientes horas de prática, horas roubadas ao sono tarde da noite ou muito antes do amanhecer, tinham melhorado tanto os seus sermões que até mesmo a Sra. Reardon ficara impressionada. A recepção mais calorosa dos sermões ajudou o sacerdote a baixar a guarda na conversa com os paroquianos e eles começaram a responder com confiança e afeto. Padre Malone até começou a apreciar o senso de humor do padre Barnett. Não houve mais vandalismo.
Houve, no entanto, um pequeno distúrbio na noite do aniversário do padre Malone. Era tarde da noite, e ele estava sentado no seu escritório passando a limpo o discurso que faria para a turma da crisma. Devia lembrar-se de não os chamar de “meninos e meninas”, eles pareciam não gostar disso, na idade em que estavam. Levantou os olhos para a prateleira acima de sua escrivaninha de tampo corrediço. Havia cartões de aniversário da Sra. Reardon, que estava de férias, da irmã dele, alguns de amigos. Havia também um grande, espalhafatoso, com um trocadilho bobo dentro, assinado por todos os coroinhas, alguns dos quais tinham também, desajeitadamente, rabiscado notas a lápis. Padre Malone estava relendo todas as mensagens quando ouviu um grito vindo de fora, e ruído de alguém correndo.
— Ei, padre!
O padre atravessou rápido o escritório e se dirigiu à sala comum, que tinha janela para a rua. Um homem estava em pé, apoiado à entrada da reitoria, com uma garrafa de cerveja na mão. Ele a ergueu e bateu com o fundo da garrafa na porta; a cerveja escorreu pelo braço da jaqueta de couro.
— Ei, padre, quero falar com o senhor!
Então, cambaleante, a figura se afastou da porta e olhou as janelas da reitoria, resmungando: — Tem alguém em casa?
Anthony da Silva, o rosto arrogante estranhamente distorcido. Padre Malone afastou-se da janela e esbarrou na poltrona de tweed. Sentou-se, com os joelhos bambos, e lembrou-se daquele estranho sonho do ano anterior. Havia tentado não pensar naquele absurdo, portanto os detalhes não estavam muito nítidos, mas se lembrava de ter ouvido no sonho que o garoto da Silva havia feito coisas terríveis, e que faria piores ainda. O resto do sonho era absurdo demais para pensar a respeito.
— Perguntei se tem alguém em casa!
Será que os vizinhos não estavam ouvindo? Padre Malone sabia que devia descer, mas o pensamento lhe deu vertigens. O rapaz estava visivelmente embriagado, ou drogado, poderia muito bem ter uma arma escondida na jaqueta. Seria tolice deixá-lo entrar na reitoria. E por que deveria? Por que se arriscar com Anthony da Silva, com seu desdém, sua tinta spray e suas palavras obscenas?
— Padre? Ei, padre? — Agora a voz era suplicante, como a de uma criança perdida. — Eu quero mesmo falar com o senhor! Padre Malone olhou para as mãos. Quem sabe o rapaz estava arrependido do vandalismo? Mas que importância teria um pedido de desculpas agora? Lembrou-se do olhar no rosto do bispo Davison naquela manhã, ao deparar com os estragos.
Lembrou-se dos desenhos desagradáveis na parede de sua igreja, e ficou vermelho de vergonha. Vejam só... Um garoto imprestável como aquele humilhar publicamente o padre de sua própria paróquia! Era imperdoável. Absolutamente imperdoável.
As batidas na porta voltaram, depois cessaram. Então, após um longo silêncio:
— VÁ SE FODER, MALONE!
Foi o bastante. Padre Malone levantou-se e voltou ao seu escritório para chamar a polícia. Mas tornou a ouvir passos, e um carro sendo ligado e depois se afastando. Colocou o fone de volta no gancho e retornou, meio ausente, às suas anotações para o dia seguinte. Mas era impossível se concentrar. Melhor tentar novamente pela manhã. Uma vez na cama, seus costumeiros vinte minutos com um romance policial viraram uma hora, até que finalmente a cena da porta da frente entrou em perspectiva.
Um pequeno distúrbio, nada mais que isso. Falaria com a mãe do rapaz no dia seguinte. O livro caiu contra o seu peito.
O bispo apareceu na porta.
Padre Malone tentou se levantar da cama, mas o mesmo peso suave, horrivelmente familiar, o empurrou de volta aos travesseiros. Ficou olhando a silhueta negra.
— Vim agradecer... — O bispo caminhou até a luz, os olhos brilhando. —... sua cooperação. O rapaz já está conosco. Acho que vamos gostar bastante dele.
— Mas eu não... eu nunca concordei...
— Claro que concordou. — A risada que o bispo deu tinha um som caloroso e benevolente. — O senhor acha que seria uma questão de documentos em pergaminho e assinatura em sangue? De jeito algum. Apenas um momento ou dois de negação do conforto da Igreja.
— Mas eu nem falei com ele!
— Exatamente. Ele veio procurá-lo esta noite, para pedir perdão. Queria se confessar, mas o senhor nem falou com ele. Era tudo de que precisávamos.
— Confessar? — perguntou o padre Malone, sentindo frio, muito frio.
— Sim. Mas nada tão trivial quanto vandalismo. Parece que se embebedou esta noite e bateu muito na namorada. Pensa que a matou, mas está enganado. Ela vai viver.
— E Tony?
— Ah, agora é “Tony”? Que comovente! — Os olhos do bispo queimavam. — O seu Tony, se o tivesse perdoado, teria sido um grande problema para nós, quando chegasse à meia-idade: mártir político, nome reverenciado em todo o mundo, uma carreira realmente notável. Isso se ele não tivesse se matado na cela de uma delegacia, há cerca de uma hora.
— Não... NÃO!
— Sim.
O bispo fez um gesto com a mão e a lâmpada de cabeceira se apagou.
— Vou partir agora. O senhor ainda está dormindo. Na hora em que acordar, com a sensatez que a luz do dia traz, tenho certeza de que decidirá não mencionar a visita de Tony a ninguém.
O sacerdote lutou contra o peso e fracassou. A voz ficava cada vez mais distante na escuridão, mas ele ainda podia ver aqueles olhos, queimando.
— Boa noite, padre Malone. Sem dúvida, irá se convencer de que isto também foi apenas um sonho. E talvez, quando estiver com setenta anos, se convença de que Tony o perdoou. Afinal de contas, o senhor é um homem muito eloqüente.
UMA QUESTÃO DE PRINCÍPIOS – Isaac Asimov
George olhou tristemente para o seu copo, que continha o meu drinque (no sentido de que eu certamente pagaria por ele) e disse:— Hoje sou um homem pobre apenas por uma questão de princípios. Então arrancou um profundo suspiro da região umbilical e acrescentou: — Ao falar em “princípios”, devo, naturalmente, pedir desculpas por usar uma palavra com a qual você não está familiarizado, exceto, talvez, na acepção vulgar de início de alguma coisa. Mas a verdade é que sou um homem de princípios.
— É mesmo? — disse eu. — Suponho que Azazel tenha lhe concedido esse traço de caráter há poucos minutos, já que até hoje, pelo que sei, nunca o exibiu na presença de ninguém.
George olhou para mim com ar ofendido. Azazel é um extraterrestre de dois centímetros de altura, de uma civilização tão adiantada (segundo George) que seus poderes parecem quase mágicos para os habitantes da Terra. Ele disse: — Não consigo imaginar onde foi que você ouviu falar de Azazel.— É um completo mistério para mim, também. Ou melhor, seria um mistério, se você não falasse nele o tempo todo.
— Não seja ridículo! — protestou George. — Nunca mencionei o nome de Azazel em nossas conversas!
Gottlieb Jones [disse George] era também um homem de princípios, você poderia considerar isso impossível, tendo em vista sua profissão de publicitário, mas ele conseguia se manter acima das mazelas do ofício com um admirável jogo de cintura.
Um dia, enquanto comíamos um hambúrguer com batata frita, ele me disse:
— George, é impossível descrever com palavras o horror que é o meu trabalho, ou o desespero que sinto ao buscar maneiras persuasivas de vender produtos que, em minha opinião, nem deveriam existir! Ontem mesmo, tive que ajudar a vender uma nova variedade de repelente de insetos que, nos testes, atraiu mosquitos em um raio de vários quilômetros. “Se os insetos o incomodam”, diz meu slogan, “use Afastex.”
— Afastex? — repeti, horrorizado.
Gottlieb cobriu os olhos com uma das mãos. Tenho certeza que usaria as duas, se não estivesse colocando batatas fritas na boca com a outra.
— Tenho que conviver com esta vergonha, George. Mais cedo ou mais tarde, serei forçado a pedir demissão. Este emprego viola meus princípios de ética comercial e de honestidade literária. E você sabe que eu sou um homem de princípios.
Observei, delicadamente:
— Por outro lado, meu amigo, esse emprego lhe rende trinta mil dólares por ano, e você tem uma esposa linda e jovem para sustentar, além de um filho pequeno.
— Dinheiro! — exclamou Gottlieb, com violência. — Lixo! O vil metal pelo qual um homem é capaz de vender sua alma! Tenho aversão a ele, George. Quero vê-lo longe de mim.
— Mas Gottlieb, não é o que você está fazendo! Está recebendo seu salário no fim do mês, não está?
Devo admitir que, por um momento de apreensão, pensei em um Gottlieb sem vintém e no número de almoços que sua virtude tornaria impossível pagar para nós dois.
— Sim, sim, é verdade. Marilyn, minha querida esposa, tem o embaraçoso hábito de mencionar sua mesada para as compras domésticas em conversas de cunho eminentemente intelectual, para não falar das vezes em que se refere, como que por acaso, às dívidas que levianamente contraiu em supermercados e butiques. Tudo isso interfere nos meus planos de ação. Quanto a Gottlieb, Jr., que está para fazer seis meses, ainda não está preparado para compreender que o dinheiro não tem nenhuma importância. Embora, para fazer-lhe justiça, eu tenha que admitir que jamais me pediu um empréstimo.
Suspirou, e eu suspirei com ele. Sei perfeitamente que as esposas e filhos menores não têm o menor espírito de cooperação no que diz respeito às finanças familiares, e esta é a razão principal pela qual permaneço solteiro até hoje, apesar da perseguição insistente de lindas mulheres, atraídas por meus encantos naturais.
Gottlieb Jones interrompeu involuntariamente minhas agradáveis divagações, perguntando: — Você sabe qual é meu maior desejo, George?
Disse isso com um brilho tão lúbrico nos olhos que fiquei assustado, achando que de alguma forma conseguira ler meus pensamentos. Para minha surpresa, porém, acrescentou: — Meu maior desejo é ser um romancista, descrever com detalhes as profundezas da alma, revelar aos meus leitores extasiados a gloriosa complexidade da condição humana, inscrever meu nome em grandes letras indeléveis na literatura clássica e marchar para a eternidade na companhia de homens e mulheres como Esquilo, Shakespeare e Ellison.
Tínhamos terminado a refeição, e eu esperava, nervoso, pela conta, aguardando o momento conveniente em que pudesse desviar minha atenção para outra coisa. O garçom, depois de nos observar com a aguda percepção resultante de muitos anos de prática, entregou-a a Gottlieb. Respirei, aliviado, e disse: — Pense, meu caro Gottlieb, nas conseqüências desagradáveis disso. Li recentemente, num conceituado jornal que um passageiro do ônibus mantinha aberto, que existem 35.000 escritores nos Estados Unidos com pelo menos um romance publi-cado, dos quais apenas 700 ganham a vida cono escritores; desses, não mais que cinqüenta, repare bem, são ricos, comparado com isso, seu salário atual...
— O que importa isso? — exclamou Gottlieb. — Não estou interessado em ganhar dinheiro, e sim em conquistar a imortalidade e presentear futuras gerações com um tesouro literário de valor incalculável. Poderia suportar com facilidade o desconforto de permitir que Marilyn trabalhasse como garçonete, motorista de ônibus ou qualquer coisa igualmente acessível aos seus modestos dotes intelectuais. Tenho certeza que consideraria um privilégio trabalhar de dia e cuidar de Gottlieb, Jr. à noite, enquanto eu estaria dedicado à criação de minhas obras-primas. Só que...
Ele fez uma pausa.
— Só que... — repeti, encorajando-o.
— Não sei bem por que, George — disse, com um traço de petulância a voz —, mas há um pequeno obstáculo no caminho. Falta alguma coisa. Meu cérebro está sempre fervilhando de idéias. Cenários, trechos de diálogos, situações de grande impacto dramático se misturam o tempo todo na minha mente. É apenas a questão secundária de colocar tudo isso no papel que parece me escapar. Deve ser um problema de menor importância, ja que qualquer escritor incompetente, como aquele seu amigo que tem um nome esquisito, parece não ter dificuldade em produzir livros às centenas. Mesmo assim, é um problema real.
(Certamente ele estava se referindo a você, meu caro amigo, já que as palavras “escritor incompetente” lhe caem como uma luva. Senti-me tentado a dizer algumas palavras em sua defesa, mas depois me dei conta de que seria uma tarefa inglória.)
— Vai ver — observei — que você não se esforçou o bastante. — Acha que não? Tenho centenas de folhas de papel, cada uma com o primeiro parágrafo de um romance maravilhoso. O primeiro parágrafo, e nada mais. Centenas de primeiros parágrafos para centenas de romances. É no segundo parágrafo que eu sempre empaco.
Uma idéia brilhante me veio à mente, mas não me surpreendi. Estou sempre tendo idéias brilhantes.
— Gottlieb — disse-lhe —, eu posso resolver seu problema. Posso torná-lo um grande escritor. Posso fazer com que fique rico.
Ele olhou para mim com uma expressão de descrença.
— Você pode? — perguntou, com uma ênfase quase ofensiva no pronome.
Àquela altura, já estávamos saindo do restaurante. Observei que Gottlieb se esquecera de deixar uma gorjeta para o garçom, mas me abstive de mencionar o fato, já que meu amigo poderia sugerir que eu me encarregasse da desagradável tarefa.
— Meu amigo, tenho o segredo do segundo parágrafo, e portanto posso torná-lo rico e famoso!
— Hum! Qual é o segredo?
Com toda a delicadeza (e é aqui que chegamos à minha brilhante idéia), eu lhe disse: — Gottlieb, todo trabalho tem seu preço.
Gottlieb deu uma risada.
— Minha confiança em você é tão grande, George, que não tenho medo de jurar que se me tornar um escritor rico e famoso, você poderá ficar com metade do que eu ganhar, depois de descontadas as despesas, naturalmente.
Com mais delicadeza ainda, fui em frente: — Sei que é um homem de princípios, Gottlieb. E por isso sua palavra vale mais para mim que qualquer contrato. Mas só de brincadeira — ha, ha —, estaria disposto a escrever isso num papel, assinar embaixo e — só para tornar a brincadeira ainda mais engraçada — ah, ah — registrar em cartório? Podemos ficar com uma cópia cada um.
A pequena transação tomou apenas meia hora do nosso tempo, já que recorremos a um tabelião que também era datilógrafo e meu amigo de longa data.
Guardei na carteira uma cópia do precioso documento e disse: — Não posso lhe fornecer imediatamente o segredo, mas assim que estiver tudo arranjado, terá notícias minhas. Poderá então começar um romance, e não terá nenhum problema para escrever o segundo parágrafo... qualquer segundo parágrafo. Naturalmente, não me deverá coisa alguma ate que comecem a entrar os primeiros pagamentos.
— Claro que não! — exclamou Gottlieb, em tom irritado.
Naquela mesma noite, dediquei-me ao ritual de costume para chamar Azazel — o nome que inventei para ele, pois me recuso a usar o que ele usa para se referir a si próprio. Esse nome, escrito no papel, é dez vezes maior que o dono.
Azazel tem apenas dois centímetros de altura, e é uma pessoa sem nenhum destaque em seu próprio mundo. Esta é a única razão por que está sempre disposto a me ajudar: isso o faz sentir-se importante.
Naturalmente, jamais conseguirei persuadi-lo a fazer alguma coisa que contribua, de forma direta, para me tornar uma pessoa rica. A criaturinha insiste em dizer que isso seria uma comercialização inaceitável de sua arte. E não parece acreditar quando lhe asseguro que tudo que fizer por mim será usado, de forma totalmente desprendida, para o bem da humanidade. A primeira vez que lhe fiz essa declaração, ele emitiu um som estranho, cujo significado me escapou, e que afirmou ter aprendido com um habitante do Bronx.
Foi por esse motivo que não lhe revelei a natureza do acordo que firmara com Gottlieb Jones. Não seria Azazel que iria me tornar milionário. Na verdade, Gottlieb se encarregaria disso, depois que Azazel o tornasse rico. Mas eu teria um trabalho dos diabos para fazer o pequeno extraterreno compreender a diferença. Azazel, como sempre, ficou irritado com a interrupção.
Sua pequena cabeça estava ornamentada com o que pareciam pequenas mechas de algas marinhas. Ele me explicou, de forma um tanto incoerente, que eu o chamara bem no meio de uma cerimônia universitária, na qual receberia algum tipo de diploma.
Sendo, como já expliquei, uma pessoa sem nenhum destaque no seu planeta natal, tem a tendência de dar importância excessiva a esse tipo de cerimônia. Assim, sua primeira reação foi de extremo desagrado. Procurei consolá-lo.
— Ora, você pode atender ao meu pedido, uma coisa muito simples, e retornar ao exato momento em que partiu de lá. Ninguém vai notar que esteve ausente.
Ele resmungou um pouco, mas teve que admitir que eu estava certo, de modo que o ar em torno do seu corpo parou de estalar com pequenos relâmpagos.
— Que é que você quer, afinal? — perguntou.
Expliquei-lhe.
— A profissão desse homem não é comunicar idéias? — quis saber Azazel.— Não é transformar idéias em palavras, como aquele seu outro amigo que tem um nome esquisito?
— É verdade. Mas ele gostaria de fazer isso com maior eficiência e beleza, de modo a se tornar mundialmente famoso...e também rico. É claro que, ele deseja a riqueza apenas como prova palpável do seu talento, já que, por princípio, abomina o dinheiro.
— Compreendo. Também temos artesãos da palavra no nosso mundo, e todos estão interessados apenas no aplauso do público. Jamais concordariam com uma remuneração financei-ra, se não a considerassem indispensável como prova palpável de seus talentos.
Concordei com um sorriso.
— Uma fraqueza da profissão. Felizmente, eu e você estamos acima dessas coisas.
— Bem — disse Azazel —, não posso ficar aqui parado o resto do ano, ou terei dificuldade para localizar a hora exata em que devo voltar para a cerimônia. Esse seu amigo está dentro do raio de ação dos meus poderes mentais?
Tivemos trabalho para encontrá-lo, mesmo depois que eu lhe mostrei no mapa onde ficava sua firma de publicidade e lhe forneci uma descrição precisa e eloqüente do meu amigo. Mas não quero cansá-lo com detalhe? irrelevantes.
Afinal, Gottlieb foi encontrado. Depois de um breve exame, Azazel declarou:
— Um tipo de mente relativamente comum entre os seres da sua desagradável espécie. Viscosa, porém quebradiça. Examinei o circuito de formação de palavras e descobri que está cheio de nós e obstruções. Não admira que encontre dificuldade para escrever. Não será difícil remover os obstáculos principais, mas isso poderá comprometer a estabilidade da mente como um todo. Acho que não haverá nenhum dano, se eu agir com cautela, mas existe sempre o perigo de um acidente. Acha que ele estaria disposto a correr o risco?
— Oh, claro que sim! — exclamei. — Ele daria tudo para ser famoso e servir ao mundo através de sua arte. Claro que aceitaria o risco sem pestanejar.
— Está certo, mas, pelo que me disse, vocês dois são muito amigos. Talvez ele esteja cego pela ambição e pelo desejo de servir ao próximo, enquanto você está em condições de avaliar a situação de forma mais racional. Está disposto a permitir que ele corra o risco?
— Meu único objetivo — declarei — é torná-lo feliz. Vá em frente e faça o trabalho. Se tudo der errado... Bem, terá sido por uma boa causa. — (Claro que era por uma boa causa, já que, se as coisas dessem certo, metade dos lucros iria parar no meu bolso.)
Foi assim que fizemos nossa boa ação. Como de hábito, Azazel procurou valorizar ao máximo o seu trabalho, e ficou ali parado, ofegante, resmungando alguma coisa a respeito de pedidos pouco razoáveis. Mas lhe disse para pensar na felicidade que estava levando a milhões de pessoas e o exortei a evitar o feio vício da autopromoção. Inspirado por minhas palavras edificantes, ele se despediu de mim para voltar à tal cerimônia que estava participando.
Uma semana depois, fui procurar Gottlieb Jones. Não tinha feito nenhum esforço para vê-lo mais cedo porque achara que ele precisaria de algum tempo para se acostumar ao seu novo cérebro. Além disso, preferi esperar e saber a respeito dele por outras pessoas, para ver se sua mente havia sido danificada no processo. Caso isso houvesse ocorrido, preferia não tornar a vê-lo. Minha perda (e a dele também, suponho) tornaria o nosso encontro demasiadamente traumático.
Não ouvi dizer que estivesse fazendo nenhuma sandice, e certamente ele me pareceu bastante normal quando o vi saindo do edifício onde trabalhava. Notei imediatamente o seu ar melancólico. Não liguei muito para isso, já que os escritores, como é de conhecimento geral, são muito sujeitos a ataques de melancolia.
Tem alguma coisa a ver com a profissão, acredito. Talvez seja o convívio constante com os editores.
— Olá, George — disse ele, apaticamente.
— Gottlieb! Como é bom vê-lo! Está mais bonito do que nunca! — (Na verdade, como todos os escritores, ele é feio como a praga, mas temos que ser educados.) — Tentou escrever algum romance ultimamente?
— Não, não tentei. — Depois, como se tivesse se lembrado de repente de nossa última conversa, acrescentou: — Por quê? Já pode me ensinar o segredo de como passar pelo segundo parágrafo?
Fiquei exultante por ele ter se lembrado: ali estava outra prova de que seu cérebro continuava intacto.
— Mas já está tudo feito, meu caro amigo. — Não precisava explicar-lhe todos os detalhes; a discrição é uma das minhas virtudes. — Tudo que tem a fazer é ir para casa, colocar o papel na máquina e começar a escrever. Seus problemas terminaram. Escreva dois capítulos e uma sinopse do resto. Estou certo de que qualquer editor a quem você mostrar a obra dará gritos de alegria e lhe oferecerá um polpudo cheque, do qual a metade será merecidamente sua!
— Hum! — fez Gottlieb, com ar de dúvida.
— Confie em mim — disse eu, levando a mão direita ao coração, que, como você sabe, é suficientemente grande, em sentido figurado, para ocupar toda a minha cavidade torácica.
— Na verdade, acho que devia pedir demissão imediatamente desse seu odioso emprego, de modo a não contaminar as jóias que a qualquer momento começarão a sair da sua máquina de escrever. Experimente uma vez, Gottlieb, e verá que o que estou dizendo é a mais pura verdade!
— Quer que eu peça demissão do meu emprego?
— Exatamente.
— Impossível!
— Impossível por quê? Dê as costas a essa profissão ignóbil. Abandone para sempre a triste tarefa de enganar o público.
— Estou lhe dizendo que não posso pedir demissão. Acabo de ser demitido.
— Demitido?
— Isso mesmo. E com expressões de desagrado que jamais hei de perdoar.
Caminhamos em direção à lanchonete onde costumávamos almoçar.
— Que aconteceu? — perguntei.
Ele me contou, sem pressa, enquanto saboreávamos um sanduíche de pastrami.
— Estava revendo o anúncio de um desodorante e me dei conta de que o texto era fraco, contido. Nós nos limitávamos timidamente a usar a palavra “odor”. De repente, senti vontade de dar asas à imaginação. Se estávamos declarando guerra ao mau cheiro, por que não dizer isso claramente? Por isso, coloquei, no alto do anúncio: “Abaixo o bodum!”. No final, escrevi, em letras bem grandes: “Inhaca, nunca mais!”. Depois, mandei um fax do anúncio para o cliente, sem me dar ao trabalho de consultar ninguém.
“Depois de mandar o fax, porém, pensei: ‘Por que não?’
E enviei uma cópia para o meu chefe, que imediatamente teve um ataque apoplético. Mandou me chamar e disse que eu estava despedido, usando alguns termos que tenho certeza não aprendeu com a senhora sua mãe... a não ser que ela fosse uma depravada. De modo que aqui estou eu, desempregado.
Olhou para mim com ar hostil.
— Suponho que vai me dizer que você é o responsável pela situação em que me encontro.
— Claro que sou. Você fez o que, inconscientemente, sabia que era melhor para você. Deu um jeito de ser demitido e poder se dedicar integralmente à verdadeira arte. Gottlieb, meu amigo, vá para casa agora mesmo. Escreva o seu romance e peça no mínimo 100.000 dólares adiantados. Como não terá praticamente despesa alguma, a não ser alguns centavos de papel, poderá ficar com a metade!
— Você está louco — disse Gottlieb.
— Tenho confiança em você. Para provar isso, pago o almoço.
— Você está louco — repetiu meu amigo, admirado, e foi embora, deixando-me com a conta na mão, sem perceber que eu estava apenas usando um artifício de retórica.
Telefonei para ele na noite seguinte. Normalmente, teria esperado mais tempo. Não queria pressioná-lo. Entretanto, a coisa se transformara em um investimento financeiro. O almoço me custara onze dólares, sem contar a gorjeta de 25 cents, de modo que eu estava impaciente.
— Gottlieb — disselhe eu —, como vai o romance?
— Muito bem — respondeu, distraidamente. — Nenhum problema. Já escrevi vinte páginas e estou muito satisfeito com o resultado.
Disse isso com ar ausente, como se estivesse pensando em outra coisa.
— Por que não está pulando de alegria? — perguntei.
— Por causa do romance? Não seja tolo. Recebi um telefonema de Fineberg, Saltzberg e Rosenberg.
— Dos seus patrões... Seus ex-patrões?
— Isso mesmo. Na verdade, falei apenas com um dos donos, o Sr. Fineberg. Ele me quer de volta.
— Tenho certeza, Gottlieb, de que disse para ele que jamais voltará a...
Gottlieb me interrompeu.
— Parece que o fabricante do desodorante adorou o meu anúncio. Resolveu confiar à firma uma grande campanha de publicidade na TV e nos jornais, contanto que fosse comandada pela pessoa que havia escrito aquele primeiro anúncio. Afirmou que eu havia usado uma linguagem clara e ousada, perfeitamente de acordo com o espírito dos anos 90. Estava interessado em outros anúncios no mesmo estilo, e para isso precisava de mim. Naturalmente, eu disse ao Sr. Fineberg que iria pensar.
— Está cometendo um erro, Gottlieb.
— Acho que mereço um bom aumento. Não me esqueci das coisas cruéis que Fineberg disse quando me pôs para fora...algumas delas em iídiche.
— O dinheiro é lixo, Gottlieb.
— Claro que é, George, mas quero ver quanto lixo eles estão dispostos a me pagar.
Eu não estava muito preocupado. Sabia que escrever anúncios era um trabalho grosseiro demais para a alma sensível do meu amigo, e que em breve ele ficaria fascinado com seus novos dons literários. Bastava esperar que a natureza seguisse seu curso.
Acontece que os anúncios do desodorante apareceram nos meios de comunicação e conquistaram imediatamente o público.
“Abaixo o bodum” se tornou imediatamente o lema dos jovens e dos velhos, o que contribuiu enormemente para a popularidade do produto.
Você talvez se lembre dessa moda.... Pensando melhor, claro que se lembra, pois ouvi dizer que as revistas em que você tenta publicar suas histórias passaram a usar a frase nas cartas de recusa.
Outros anúncios do mesmo tipo foram veiculados e tiveram sucesso instantâneo.
De repente, compreendi o que estava acontecendo. Azazel modificara mente de Gottlieb para que o meu amigo escrevesse de uma forma agradável ao público, mas, sendo pequeno e insignificante, fora incapaz de executar o ajuste fino que tornaria o novo dom aplicável apenas a romances. Talvez Azazel nem soubesse o que é um romance.
Ora, que diferença fazia?
Não posso dizer que Gottlieb tenha ficado radiante quando chegou em casa e me encontrou na porta, à sua espera, mas certamente se sentiu na obrigação de me convidar para entrar. Na verdade, foi com certa satisfação que percebi que ele também se sentia obrigado a me convidar para o jantar, embora tenha tentado (deliberadamente, penso eu) estragar o meu prazer fazendo-me segurar Gottlieb, Jr. no colo por um período de tempo que me pareceu interminável. Foi uma experiência terrível.
Mais tarde, quando estávamos sozinhos na sala de jantar, eu disse:
— Afinal, quanto lixo você está ganhando, Gottlieb? Ele me olhou com ar reprovador.
— Não chame isso de lixo, George. É falta de respeito.
Trinta mil por ano pode ser lixo, mas cem mil por ano, fora os extras, constituem uma renda respeitável.
“Além disso, em breve pretendo fundar minha própria companhia e me tornar um multimilionário. Nesse nível, dinheiro é sinônimo de virtude, ou de poder, o que dá no mesmo, é claro. Com o meu poder, por exemplo, poderei levar Fineberg à falência. Isso o ensinará a não se dirigir a mim em termos que um cavalheiro jamais usaria ao se referir a outro cavalheiro. A propósito: sabe o que quer dizer ‘schmendrick’, George?
Eu não sabia. Considero-me um poliglota, mas uma das línguas que não conheço é o urdu.
— Quer dizer que você ficou rico.
— E pretendo ficar muito mais ainda.
— Nesse caso, Gottlieb, permita-me observar que isso só aconteceu depois que concordei em torná-lo rico, quando você também me prometeu metade dos lucros.
Gottlieb franziu a testa.
— Foi? Foi mesmo?
— Claro que sim! Admito que acordos desse tipo são fáceis de esquecer, mas, felizmente, colocamos tudo no papel e registramos em cartório. Por coincidência, tenho no bolso uma cópia do contrato.
— Ah! Posso vê-la?
— Pode, mas é bom que saiba que se trata apenas de uma cópia xerox, de modo que se por acaso, na pressa de examinar o papel, ele se rasgar em mil pedaços, o original continuará comigo.
— Uma sábia providência, George, mas não tenha medo. Se o que está me dizendo for verdade, receberá até o último centavo da sua parte. Afinal, sou ou não sou um homem de princípios? Entreguei-lhe a cópia e ele a examinou atentamente.
— Ah, sim — disse ele —, estou me lembrando. É claro. Só que há um pequeno detalhe.
— Qual? — perguntei.
— Este contrato fala dos meus lucros como romancista. Não sou um romancista, George.
— Você tinha vontade de ser, lembra-se? E agora está equipado para isso! Basta sentar-se diante de uma máquina de escrever e começar a trabalhar!
— Minha vontade passou, George. Não pretendo me sentar diante de uma máquina de escrever.
— Acontece que os grandes romances o tornariam imortal. Que é que você ganha escrevendo esses slogans idiotas?
— Pilhas e pilhas de dinheiro, George. Mais uma grande firma que será toda minha e na qual empregarei muitos escritores miseráveis, que dependerão de mim para sobreviver. Acha que Tolstoi teve tanto? Acha que Del Rey tem tanto?
Eu simplesmente não podia acreditar.
— Quer dizer que, depois de tudo que fiz por você, vai me deixar chupando o dedo por causa de uma única palavra no nosso contrato?
— Talvez você mesmo devesse tentar a literatura, George. Porque eu próprio não poderia descrever a situação de forma mais clara e precisa. Meus princípios me obrigam a seguir o contrato ao pé da letra. Como está cansado de saber, sou um homem de princípios.
Dessa posição não arredou, e percebi que seria inútil trazer à baila a questão dos onze dólares que havia gasto naquele almoço. Isso para não falar da gorjeta.
George se levantou e foi embora. E fez isso em tal estado de desespero histriônico que não tive como lhe pedir que pagasse primeiro sua parte nas bebidas. Pedi a conta e notei que o total registrava 22 dólares.
Admirei a precisão matemática do meu amigo, que conseguira se reembolsar da quantia exata perdida para o publicitário, e me senti obrigado a deixar uma gorjeta de 25 cents.
2000: O ANO EM QUE ESTAREMOS NA PIOR – Kim Stanley Robinson
Aquele dia também ia ser quente. Verão em Washington, D.C. Leroy Robinson acordou e rolou no colchão, encharcado de suor. Um dia daqueles. Levantou-se e se ajoelhou sobre o outro colchão no quartinho. Debra mudou de lado quando seu corpo tapou o sol que entrava pela janela aberta. Os cantos de sua boca estavam brancos e a testa ainda estava quente e seca, mas a respiração era regular e ela parecia estar dormindo bem. Em silêncio, Leroy vestiu seu jeans e cruzou a sala até o banheiro.
Trancado. Esperou; Ramón saiu molhado e grogue.
— Bom dia, Robbie.
Entrou no banheiro, onde pendurou as calças no gancho e cumpriu o ritual da manhã. Um olho injetado olhando de volta para ele da lasca de espelho que ainda havia na moldura.
A sujeira ao redor da base da pia. A cortina do chuveiro com manchas de algas pretas, como se estivesse com alguma doença fatal. Uma manhã daquelas.
Saiu do chuveiro, enxugou-se com a calça e começou a suar novamente. No quarto, Debra ainda dormia. Preocupado, ficou olhando para ela um pouco, e depois encheu os bolsos e saiu para a sala para vestir as meias e os tênis cano longo. Debra estava com sono leve por esses dias, e acordava com as coisas mais estranhas. Desceu correndo os quatro lances de escada até a rua, e suando em bicas saiu para o ar abafado da rua.
Desceu a rua 16, com sua curiosa alternância de condomínios-fortalezas e edifícios abandonados, até a alameda. Lá, enormes tanques cor caqui dominavam o largo campo de sujeira, lixo e tendas e incomum trecho de grama. A maioria dos manifestantes ainda dormia em suas vilas de tendas espalhadas, mas havia uma multidão ativa ao redor do monumento a Washington, e Leroy passou por eles, ignorando os soldados nos tanques.
A multidão cercava um estilingue do tamanho de um homem, feito de um galho de árvore bifurcado. Câmaras de ar formavam a tira de borracha; a base estava enterrada no chão. Manifestantes exaltados colocaram balões cheios de tinta vermelha na tira, e os atiravam no monumento. Se algum balão estourasse sobre a vermelhidão que já cobria a torre, espalhando branco puro — um acontecimento raro, porque o monumento era um terço de puro vermelho —, os manifestantes aplaudiam como loucos. Leroy ficou olhando-os dançarem ao redor do estilingue depois de um disparo bem-sucedido. Aproximou-se de alguns dos espectadores calmamente sentados.
— Quer comprar uma bagana?
— Quanto?
— Cinco dólares.
— Tá maluco, cara? Brincadeira! Que tal um dólar? Leroy continuou andando.
— Ei, peraí! Falou, uma bagana. Cinco dólares... merda.
— É o preço, cara.
O manifestante afastou uma mecha comprida de cabelo louro dos olhos e puxou uma de cinco de um rolo grosso de notas. Leroy tirou o maço surrado de Marlboro do bolso e pegou a menor bagana.
— Pronto. Divirta-se. Pôr que é que vocês não atiram uma daquelas bombas de tinta nos tanques, hein?
Os garotos sentados no chão riram.
— Só quando você deixar os caras doidões!
Continuou caminhando. Só restavam cinco baganas. Levou menos de uma hora para vendê-las. Isso significava trinta dólares, mas era tudo. Não tinha mais nada para vender. Quando passou pela alameda, deu uma olhada no monumento; sob a camada de tinta ele parecia um osso numa fratura exposta, perfurando a carne ensangüentada.
Nervoso com o fim do seu estoque, Leroy apertou o passo até chegar ao Dupont Circle, e sentou-se no banco do perímetro, à sombra de uma das árvores grandes, morrendo de calor e com os pés doendo. Era difícil respirar naquele ar abafado.
Bebeu a água da fonte com as mãos em concha, até que alguém entrou na fila às suas costas. Atravessou o círculo numa curva aberta, para evitar um grupo de advogados, de camisas de mangas compridas e gravatas soltas, almoçando queijo e vinho sob o olhar vigilante de seus guarda-costas. Do outro lado do parque, Delmont Briggs estava sentado no chão, quase dormindo, com a caneca ao lado e a tabuleta no colo. Um homem arruinado. A tabuleta de Delmont — e um pouquinho de relações-públicas — davam-lhe dinheiro o bastante para sobreviver na rua. Era um quadrado de papelão caindo aos pedaços que dizia POR FAVOR AJUDE — ESTOU FAMINTO. As pessoas ainda olhavam através de Delmont como se ele não estivesse ali, mas volta e meia isso chamava a atenção de alguém. Leroy balançou a cabeça desgostoso com a idéia.
— Delmont, sabe onde posso arranjar erva? Estou precisando de um maço por vinte.
— Não tá fácil não, Robbie. — Delmont pigarreou e negaceou; barganharam a informação por algum tempo, então ele mandou Leroy procurar Jim Johnson, que efetuava a venda, mediante animada troca pelas notícias do dia, entre as mesas de xadrez. Depois Leroy comprou um maço de cigarros na loja de bebidas e foi até o pequeno parque triangular entre a 17, a S e a New Hampshire, onde nunca passava polícia nem gente estranha. Chamavam aquilo de parque do Peixe, por causa da absurda baleia de cimento ao lado de uma das latas de lixo. Sentou-se num banco comprido quebrado, entre os conhecidos que estavam por ali, afastando-os enquanto esvaziava cuidadosamente os Marlboros, misturava tabaco na erva e reenchia os cigarros.
Com as pontas amarradas ele tinha mais uma dúzia de baganas.
Fumaram um e ele vendeu mais dois por um dólar cada antes de sair do parque.
Mas ainda estava nervoso, e já que era a hora mais quente do dia e não tinha muita gente na rua, decidiu visitar sua plantação. Sabia que ainda faltava no mínimo uma semana para a colheita, mas queria dar uma olhada nelas. E também era dia de regá-las.
A leste, entre as ruas 16 e 15, chegou à terra de ninguém.
A vizinhança mista de apartamentos-fortaleza e barricadas queimadas dava acesso a um ou dois quarteirões de prédios totalmente abandonados. Aqui a polícia esteve trabalhando e os saqueadores terminaram o serviço. Os edifícios estavam destroçados e queimados, os pisos térreos abertos por explosões, alguns haviam ruído totalmente, reduzidos a pilhas de escombros. Ninguém andava pela calçada arruinada; sirenes zunindo a alguns quarteirões de distância e o zumbido distante do tráfego eram os únicos sinais de que nem toda a cidade era assim.
Pequenos sobressaltos vistos pelo canto do olho não eram mais que isso; quando olhava direto não havia nada. Da primeira vez, Leroy achara enervante caminhar pela rua abandonada; agora o silêncio o tranqüilizava, e também a quietude, o cheiro de asfalto queimado e carvão molhado, a paisagem deserta dos edifícios sob um céu de leite azedo.
Seu primeiro edifício era o de granito que ficava na esquina, empretecido nos lados da rua, sem portas ou janelas, mas no resto estava bom. Passou por ele sem parar, virou a esquina e inspecionou a vizinhança. Nenhum movimento. Subiu os degraus da entrada e passou pela porta, tomando o cuidado de não deixar pegadas na lama no umbral. Outra olhada para o lado de fora e subiu as escadas quebradas até o segundo andar.
Era uma confusão de vigas e mobília quebrada, e Leroy esperou um minuto para que a vista se adaptasse à escuridão. A escada para o terceiro andar havia desabado, e era esse o motivo que o levara a escolher aquele edifício: subir não era fácil. Entretanto, ele tinha uma rota especial; de um salto agarrou uma viga que pendia da escada e nela subiu. Arrastando-se um pouco pela viga, conseguiu chegar ao terceiro andar e, de lá, uma cuidadosa subida por escadas com intervalos entre degraus o levou ao quarto andar.
A sala que cercava as escadas era escrura, e ele havia bloqueado a porta para o quarto seguinte, de forma que teve de engatinhar por um buraco na parede para passar. E pronto.
Suando em profusão, os olhos piscando por causa da repentina luz do sol, foi até suas plantas, todas alinhadas em potes de plástico na parede oposta. Onze pés de maconha fêmea, tamanho médio, as folhas verdes abertas murchando por falta de água. Pegou o funil de um dos galões e regou as plantas. Os botões estavam um pouco maiores que a unha de seu polegar; se pudesse esperar mais uma semana ou duas no mínimo, fi-cariam do tamanho de seu polegar, ou maiores até, e valeriam cinqüenta paus por peça. Arrancou algumas folhas e colocou-as num saquinho.
Achou um canto com sombra e sentou-se, observando as plantas absorverem a água. Eram de um verde maravilhoso, mais claro que a maior parte das folhas em D.C. Pequenas listras vermelhas nos botões. O céu branco parecia baixar pelo grande buraco no teto, soprando pequenas rajadas de ar abafado sobre eles. O ponto seguinte ficava a vários quarteirões ao norte, no teto de um prédio queimado que já não tinha mais andares por dentro. O acesso era por uma árvore que crescia perto da parede.
Subir era um desafio, mas tinha uma rota preparada e gostava do jeito com que as folhas o escondiam, até mesmo dos passantes logo abaixo dele depois que passava pelos galhos inferiores.
As plantas ali eram mais novas: na verdade, uma delas havia acabado de dar sementes desde a última vez que as vira; arrancou a planta e a colocou no saquinho. Depois de regá-las e ajustar os regadores de alumínio nas bocas dos galões, desceu a árvore e voltou à rua 14.
Parou para descansar no clube de beisebol do Charlie.
Charlie patrocinava um time da cidade com os lucros do bar. Os velhos membros da equipe deram boas-vindas a Leroy, que não passava por ali havia algum tempo. Leroy jogara de esquerda e como batedor na quinta base um ou dois anos antes, até seu emprego no serviço de parques ser extinto. Depois disso, teve de pagar as luvas e o uniforme, e ficou devendo a taxa mínima de sócio por três temporadas seguidas. E então desistiu. Ficava muito doloroso ir até o clube, beber com os caras e olhar todos os troféus na parede, alguns dos quais ele mesmo havia ajudado a conquistar. Mas, naquele dia, apreciou o ventilador soprando, a sombra e as batatas fritas que Charlie e Fisher dividiram com ele.
Depois do intervalo, foi até o ponto mais próximo de casa, onde as plantas novas lutavam para despontar no solo, no último andar de um prédio vazio na esquina da 16 com Caroline.
O primeiro andar era um lugar onde os vagabundos se reuniam para beber, e garrafas vazias de gim e uísque, a metade ainda dentro de sacolas de supermercado, atulhavam o quarto escuro, que fedia a álcool, urina e madeira podre. Tanto melhor: poucas pessoas seriam idiotas o bastante para entrar num buraco tão obviamente perigoso. As escadas nem mais existiam, o que não fazia diferença. Escalou pelos buracos até o segundo andar, virou-se e escalou até o terceiro.
As plantinhas estavam boas, começando a surgir do solo para o sol, as duas folhas cobertas por quatro, e depois em quatro novamente... Regou-as e foi para casa.
No caminho parou no mercadinho dos vietnamitas, e comprou três latas de sopa, uma caixa de cream-crackers e um pouco de Coca-Cola.
— Vinte dois e cinco hoje, Robbie — disse o velho Huang com um sorriso de quatro dentes.
Os vizinhos estavam na calçada, as mulheres sentadas nos alpendres, os homens batendo uma bola enquanto olhavam Sam lixar uma mesa velha, os garotos correndo em volta. Muito quente para ficar dentro de casa naquela noite, embora a rua não estivesse muito melhor. Leroy cumprimentou todo mundo e subiu os lances da escada devagar, sentindo as viagens do dia nos pés.
No seu quarto Debra estava acordada, sentada contra os travesseiros.
— Leroy, estou com fome. — Parecia cansada, aborrecida; ele estremeceu só de pensar em como devia ter sido o seu dia.
— É um bom sinal, quer dizer que você está se sentindo melhor. Trouxe uma sopa muito boa pra você. — Acariciou o rosto dela, sorrindo.
— Está muito quente pra tomar sopa.
— É, é verdade, mas a gente deixa esfriar depois que ferver, o gosto ainda fica bom.
Sentou-se no chão e ligou o fogareiro, derramou água do galão plástico na panela, abriu a lata de sopa e misturou tudo.
Enquanto tomavam a sopa, Rochelle Jackson bateu na porta e entrou.— Estou vendo que você está melhor — Rochelle fora enfermeira antes de seu hospital fechar, e Leroy pediu sua ajuda quando Debra ficou doente. — Vamos ter que tirar a temperatura mais tarde.
Leroy botava para dentro alguns crackers enquanto via Rochelle examinar Debra. No final tomou a temperatura e Leroy a levou até a porta.
— Ainda está muito alta, Leroy.
— Mas o quê ela tem? — perguntou, como sempre fazia.
Frustração...
— Não sei mais do que sabia ontem. Acho que é algum tipo de gripe.
— Mas uma gripe iria durar tanto?
— Algumas duram. Faça apenas com que ela durma e beba a maior quantidade de líquido possível, e dê-lhe de comer quando estiver com fome... Não fique com medo, Leroy.
— Não posso evitar! Fico com medo que ela piore... E não há nada que eu possa fazer!
— É, eu sei. Mantenha Debra bem alimentada. Você está fazendo exatamente o que eu faria.
Depois de limpar tudo, deixou Debra dormindo e voltou para a rua, para se juntar aos homens nas mesas de piquenique e bancos no parque aglomerados na interseção. Aquela era a “sala de estar” nas noites de verão, e todos os de sempre estavam nos seus lugares, sentados nas mesas ou nos bancos.
— E aí, Robbie? Qual é a boa?
— Não tem muita coisa. Ih, cara, não chuta essa bola que hoje não estou a fim de jogar.
— Você esteve nas ruas hoje, não esteve?
— De que outro jeito a gente acha e traz a maldita pra vocês?— Olha lá! O Fantasma está trazendo a TV!
— Hoje tem cinema, galera! — gritou o Fantasma enquanto se aproximava e colocava na mesa de piquenique uma pequena TV holográfica e um gerador Honda. Eles riram e viram a pele branca do Fantasma brilhar na escuridão quando ele acionou o sistema.
— Onde é que você conseguiu isso, Fantasma? Andou correndo pelas salas de velório de novo?
— Claro! — sorriu o Fantasma. — A imagem desta aqui está toda fodida, mas ainda funciona... Eu acho...
Ligou o aparelho e figuras em terceira dimensão, borradas, surgiram num cubo sobre a caixa: todas em tons de azul-escuro.— Cara, hoje é dia de blues! — Ramón observou. — Olha só isso!— Tudo igualzinho ao Fantasma — disse Leroy.
— Ah, qual é! Funciona, não funciona? — reclamou o Fantasma. Vaias. — Ouve só o som! O som funciona...
— Então aumenta aí,
— Já está no máximo.
— Que que há! — riu Leroy. — Qual é, Fantasma, a gente vai ter que ficar assistindo anõezinhos congelados sussurrando? Que que tem de interessante nisso?
— Que merda é essa? — perguntou Ramón.
Johnnie respondeu:
— É o Sam Spade, o maior espião computadorizado do mundo.— E como é que ele vive naquele barraco? — perguntou Ramón novamente.
— Isso é pra mostrar que ser espião por computador não é mole, é barra pesada.
— Então como é que ele tem equipamento no valor de quatro milhões de dólares? — tornou a perguntar Ramón, e os outros começaram a rir baixinho, e Leroy mais alto.
Johnnie e Ramón às vezes arrasavam. Uma garrafa de rum começou a rolar, e Steve entrou na roda batendo a bola de futebol em cima da TV, amassando repetidamente as figuras azuladas.
— Presta atenção agora, o Sam vai plugar o cérebro no computador e descobrir quem é ele.
— E então vão falar pra ele sobre algum programa de computador roubado que ele tem de achar.
— Eu também faço programas... Só que prefiro com as mulheres.
Steve deixou cair a bola e chutou-a contra a lateral da mesa de piquenique; e alguns dos que estavam assistindo se juntaram para jogar cartas. Uns caras que estavam dentro de uma caminhonete parada conversavam aos berros com outros caras na esquina. Os que estavam assistindo ao filme inclinaram-se para a frente.
— Pra onde é que ele vai? — perguntou Ramón. — Hong Kong? Mônaco? Ele vai pegar o ônibus pra Mônaco?
Johnnie balançou a cabeça.
— Rio, cara. A porra do Rio de Janeiro.
E, realmente, Sam ia para o Rio. O Fantasma se aborreceu. — Johnnie! Você já viu esse filme antes.
Johnnie balançou a cabeça, embora piscasse para Leroy.
— Não, cara, é porque todo bom programa roubado sempre vai para lá. Uma série de comerciais interrompeu sua alegria: desodorante, alarme contra ladrões, carros. Os homens da caminhonete foram embora. Então o filme voltou, já no Rio, e Johnnie falou:
— Ele vai encontrar uma espiã afro-asiática gostosona.
Quando Sam foi abordado por uma bela negra asiática ninguém agüentou.
— Porra, você já viu esse filme! — gritou o Fantasma.
Johnnie riu com a garrafa na boca, tentando engolir o rum. — Não vi, não. A experiência conta, cara. É só isso.
— E Johnnie já assistiu uma porrada de Sam Spade — Ramón acrescentou.
Leroy comentou:
— Por que será que elas sempre são afro-asiáticas?
Steve deu uma gargalhada.
— É pra eles nos foderem todos de uma vez, cara! — Driblou a imagem, mudou o canal, “... relatórios de comandos do exército em Los Angeles informam que os tumultos mataram pelo menos. ..” Mudou o canal de novo. — O que mais temos aqui...Cara! O que que é isso?
— Ciborgues contra andróides — respondeu Johnnie, depois de uma rápida olhada nas sombras azuis. — Muita luta.
— Duca! — exclamou Steve. Aborrecidos, alguns dos espectadores pularam fora. — Eu também sou um ciborgue, olha aqui. Eu tenho esses dentes falsos.
— Que merda.
Leroy saiu para dar uma volta pelo quarteirão com Ramón, que estava se sentindo bem.
— Às vezes eu me sinto tão bem, Robbie! Tão forte! Ando por esta cidade e afirmo que ela está caindo aos pedaços, não vai durar muito tempo do jeito em que se encontra. E aqui estou, como uma espécie de animal, sabe, vivendo dia após dia de esperteza e me virando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para sobreviver... Você sabe que há gente vivendo no parque Rock Creek como índios ou coisa parecida, caçando, pescando e tudo o mais. Aqui é a mesma coisa. Os edifícios não tornam a coisa tão diferente. É caçar e catar coisas pra sobreviver, e, cara, eu me sinto tão vivo — e ergueu a garrafa de rum para o céu, como se estivesse acenando.
Leroy suspirou.
— É.
Mas, também, Ramón era um dos maiores receptadores da área. Era realmente um emprego firme. Quanto ao resto...
Terminaram a caminhada e Leroy voltou ao quarto. Debra dormia tranqüila. Foi ao banheiro, lavou a camisa na pia e pendurou-a. O quarto estava abafado, e não entrava nem uma brisa pela janela. Deitado, suando no colchão, pensando em como fazer o dinheiro que tinham durar, demorou muito tempo para adormecer.
No dia seguinte, retornou ao clube de beisebol para ver se Charlie podia lhe dar algum trabalho, como havia feito uma vez ou duas no passado. Mas Charlie apenas disse não, muito rapidamente, e todos os caras do bar olharam para Leroy de maneira estranha; ele se sentiu pouco à vontade, de forma que saiu sem beber nada. Depois disso, voltou à praça, onde os manifestantes encaravam as tropas perfiladas em frente ao Capitólio, dançando, xingando e jogando coisas. Com toda a polícia por ali levou uma boa parte da tarde para vender todas as baganas que restavam, e quando voltou para a rua 17 sentia-se cansado e preocupado. Talvez outra aquisição do Delmont desse para ir levando por mais uns dias...
Na esquina da 17 com a Q um garoto alto e magro correu para a rua e tentou abrir a porta de um carro parado no sinal.
Mas, apesar da aparência vagabunda, era um carro preparado e o garoto gritou com o choque que a maçaneta lhe deu. Ainda estava preso ao carro quando este arrancou: ele foi atirado no ar e rolou pelo asfalto. Os veículos passavam ao largo. Uma multidão se juntou ao redor do garoto ensangüentado. Leroy passou direto, rilhando os dentes. Pelo menos o garoto sobreviveria. Ele já havia visto guarda-costas fuzilarem ladrões no meio da rua e saído como se nada tivesse acontecido.
Passando pelo parque do Peixe, viu um homem sentado num banco de esquina, olhando ao redor. O cara era branco e novo; o cabelo curto e louro, e usava óculos de aro de metal, as roupas eram esportivas mas novas, como as dos manifestantes na Praça. Leroy fez uma careta para o estranho alinhado e se aproximou.
— O que é que você está fazendo aqui?
— Estou sentado! — O homem ficou irritado. — Só estou sentado num banco de parque!
— Aqui não é parque, meu camarada. Aqui é a nossa varanda. Você está vendo alguma varanda naqueles prédios de apartamentos? Não. Pois é, aqui é a nossa varanda, e não gostamos de estranhos pintando aqui sem mais nem menos, sentando em qualquer lugar!
O homem levantou-se e foi embora, olhando para trás, a expressão entre furiosa e amedrontada. O outro homem que estava sentado num dos bancos do parque olhou curioso para Leroy.
Dois dias depois ele estava quase sem dinheiro. Foi até a avenida Connecticut, onde seu velho amigo Victor tocava gaita em troca de algumas moedas quando não achava outro emprego. Hoje lá estava ele tocando Amazing Grace; parou quando viu Leroy. — Robbie! E aí, o que é que há?
— Nada demais. E contigo?
Victor fez um gesto na direção do chapéu vazio, na calçada.
— Você está vendo. Não tenho grana nem pra erva, cara.
— Então você não está fazendo nenhum trabalho de jardinagem ultimamente?
— Não, não. Ultimamente não. Mas aqui eu me dou bem.
As pessoas ainda pagam pela música, cara, algumas delas ainda pagam. Música é o caminho.
Olhou para Leroy, o rosto voltado contra o sol. Haviam trabalhado juntos no serviço de parques, em tempos idos. Toda manhã, no verão, saíam de caminhão pelas ruas, parando em cada árvore e subindo um ao outro numa grua. O que ficava na grua tinha que apoiar-se no tronco ou nos galhos, feito um acrobata, cortando cada galho abaixo de seis metros, precisando ser muito cuidadosos com a serra elétrica para não cortarem fora suas pernas ou coisas do gênero. Bons tempos, aqueles. Agora o serviço de parques não existia mais, e Victor olhava Leroy com uma expressão estóica nos olhos, sentado por trás de um chapéu vazio. — Você tem olhado para as árvores, Robbie?
— Não muito.
— Eu tenho. Elas estão crescendo feito doidas, cara! Igual à merda da erva daninha! Todo verão elas crescem pra diabo.
Logo, logo as pessoas vão ter de dirigir seus carros por entre os galhos. As ruas serão túneis. E, com metade dos edifícios desta área desabando... Eu gosto da idéia de que a floresta está tomando conta desta cidade novamente. Passando por cima dela como uma enorme onda, até que talvez tudo volte, finalmente, a ser uma floresta.
Naquela noite, Leroy e Debra comeram tortillas e fritas, com o resto de seu dinheiro. Debra não dormiu bem à noite; sua temperatura continuava alta. Rochelle examinou-a com a testa franzida.
Leroy decidiu fazer uma colheita das folhas maiores, prematuramente. Podia secá-las no fogareiro e voltar ao negócio em dois dias.
Na tarde seguinte ele caminhou para leste, para a terra de ninguém, bem na hora do pôr-do-sol, onde se aglomeravam enormes nuvens de chuva, iluminadas pelo sol, mas ainda não havia chovido naquele dia. O ar abafado era um tapete invisível, que cobria cada hálito de umidade. Leroy chegou ao seu prédio abandonado e olhou ao redor. Mais uma vez, a completa quietude de uma cidade deserta. Lembrou-se das histórias que Ramón contava sobre pessoas que viviam na terra de ninguém, colhendo água da chuva em tambores nos porões, plantando vegetais em terrenos vazios e vivendo totalmente independentes, sem a menor necessidade de dinheiro...
Entrou no prédio, subiu as escadas, escalou a viga, suou até o quarto andar e se esgueirou pelo buraco na parede.
As plantas não estavam lá.
— O quê... — ajoelhou-se, como se tivesse levado um soco no estômago. Os potes de plástico foram derrubados e torrões de terra estavam espalhados pelo velho piso de madeira.
Com o coração na mão, desceu correndo as escadas e disparou para o segundo esconderijo. O suor pingava nos olhos e doía. Perdeu o fôlego e teve de caminhar o resto do percurso.
Subir a árvore foi uma luta.
A segunda plantação também não estava mais lá.
Estava atordoado, chocado como nunca. Alguém devia tê-lo seguido... Era quase noite e o céu matizado descia sobre ele, vazio mas, de alguma forma, alerta. Desceu a árvore e correu novamente para o sul, pegando o ar nos pulmões em soluços.
Já estava escuro quando alcançou o cruzamento da 16 com Caroline, e subiu as escadas quebradas usando um cigarro para iluminar o caminho. No quarto andar a luz revelou potes quebrados, terra em toda parte; as plantinhas haviam desaparecido.
Tão pequenas que não valiam nada. Até mesmo os regadores de alumínio foram inutilizados e jogados num canto.
Ficou sentado, molhado de suor, e inclinou-se contra a parede esburacada e mofada. Jogou a cabeça para trás e olhou as nuvens brancas e alaranjadas iluminadas pela cidade.
Depois de um certo tempo, desceu pela escada até o primeiro andar e ficou parado sobre o concreto emporcalhado, entre as sombras e as garrafas descartadas. Pegou uma de uísque e cheirou-a. De garrafa em garrafa ele colocou as gotas que ainda restavam numa garrafa de uísque. Quando acabou, havia conseguido um dedo ou dois de bebida, que desceu pela goela de um gole. Engasgou. Jogou a garrafa contra a parede. Pegou cada garrafa e jogou-as todas contra a parede. Então saiu, sentou-se na calçada, e ficou olhando o tráfego.
Deduziu que alguém dentre os velhos parceiros do clube de beisebol do Charlie devia tê-lo seguido e descoberto seus pontos, o que explicaria por que o haviam olhado tão estranhamente no outro dia. Voltou para conferir. Mas, quando lá chegou, encontrou o lugar fechado, com um grande cadeado novo na porta.
— O que aconteceu? — perguntou a um dos homens na esquina, um dos componentes do time daquele ano.
— Pegaram o Charlie hoje cedinho. Por vender bolinhas.
Agora o clube acabou de vez, e o time também.
Quando voltou ao apartamento era tarde, passava de meia-noite. Foi até a porta de Rochelle e bateu de leve.
— Quem é?
— Leroy.
Rochelle abriu a porta. Leroy explicou o que havia acontecido.— Você pode me emprestar uma lata de sopa para Debra esta noite? Te devolvo.
— Tudo bem. Mas quero uma de volta logo, está ouvindo? No seu quarto, Debra estava acordada.
— Onde você esteve, Leroy? — perguntou, fraca. — Fiquei preocupada.
Ele sentou-se ao lado do fogareiro, exausto.
— Estou com fome.
— Bom sinal. Sopa de creme de cogumelos saindo.
Começou a cozinhar, sentindo-se doente e cansado. Quando Debra terminou de comer, ele teve de forçar o restante da sopa pela garganta.
Obviamente, ele percebeu, alguém que o conhecia o havia roubado: um dos vizinhos ou um conhecido do parque. Devem ter descoberto sua fonte de erva e depois o seguido em seus passeios. Alguém que ele conhecia. Um de seus amigos.
No dia seguinte, bem cedo, ele pescou um jornal de uma lixeira e passou os olhos pela coluna de classificados para tentar um emprego de lavador de pratos ou coisa parecida. Havia um emprego de porteiro no hotel Dupont e ele foi pedir informações.
O homem o despachou com um simples olhar: — Desculpe, cara, mas procuramos pessoas que possam entrar no restaurante, entende?
Ao olhar para uma das grandes janelas prateadas enquanto subia a New Hampshire, Leroy entendeu: o cabelo espigado em todas as direções, como se estivesse treinando para ser um rastafari em cinco ou dez anos; as roupas sujas e rasgadas, os olhos esbugalhados... Com um profundo medo percebeu que era pobre demais para conseguir um emprego: estava além do ponto de retorno.
Caminhou pelas ruas negras, brilhantes, conferindo as cabines de telefone à procura de moedas. Desceu a rua M e foi até a 12, parando em todos os grills e restaurantes asiáticos, foi até o parque da Pílula e tentou arranjar algum com os conhecidos; deu outra olhada nas cabines telefônicas e vasculhou por entre tiras rasgadas de jornal, esperando desesperado que uma delas pudesse ter um emprego para ele... e a cada passo dolorido o medo o instigava como a dor lancinante nas pernas, até se tornar um pânico irracional. Por volta do meio-dia, estava tão nervoso e se sentia tão mal que foi obrigado a parar; apesar do medo, dormiu no parque do Dupont Circle durante as horas mais quentes do dia.
No fim da tarde ele se levantou, caminhando quase sem rumo. Vasculhou cada cabine de telefone por quarteirões e quarteirões, mas outros dedos haviam estado lá antes dos seus. As caixas de troco das velhas máquinas de bilhetes no Metrô teriam dado mais, mas com o sistema subterrâneo fechado, todos aqueles buracos na terra foram bloqueados, sendo lentamente preen-chidos com lixo. Nada senão enormes latas de lixo.
Voltando ao Dupont Circle ele tentou outra cabine e conseguiu dez centavos.
— Oba! — disse em voz alta.
Agora tinha pouco mais que um dólar. Levantou os olhos e viu que um homem havia parado para observá-lo: um daqueles advogados filhos da puta, com gravata solta e camisa de mangas compridas, meias e sapatos de couro, olhando para ele boquiaberto enquanto seu grupo e guarda-costas cruzavam a rua.
Leroy segurou a moeda entre polegar e indicador e olhou para o homem, tentando imprimir nele a realidade de dez centavos.
Parou no mercado vietnamita.
— Huang, posso levar uma lata de sopa e pagar amanhã?
O velho sacudiu a cabeça, triste.
— Não posso, Robbie. Se faço isso uma só vez que seja...— retorcia as mãos — a casa vem abaixo. Você sabe disso.
— Sei. Escuta, o que eu posso comprar com... — puxou do bolso a féria do dia e contou novamente — um dólar e dez?
Huang deu de ombros.
— Um doce? Não? — Estudou o rosto de Leroy. — Batatas. Aqui, duas batatas. Um dólar e dez.
— Não sabia que você tinha batatas.
— Guardo para a família, entende? Mas vendo estas para você.
— Obrigado, Huang.
Leroy apanhou as batatas e foi embora. Atrás da loja havia uma lixeira; ele a examinou, abriu-a e olhou o que tinha dentro. Um cachorro-quente pela metade... mas o fedor o derrubou; lembrou-se do gosto estragado da bebida velha que bebera para se punir. Fechou a lixeira com um estrondo e foi para casa.
Depois que as batatas foram cozidas e amassadas e deu de comer a Debra, Leroy foi ao banheiro e tomou uma ducha até que alguém batesse na porta. De volta ao quarto ainda sentia calor e era difícil respirar. Debra rolava no colchão, gemendo. Às vezes tinha certeza de que ela estava piorando. Pensando nisso, seu medo voltou a machucá-lo e ele ficou tão apavorado que não conseguia respirar...
— Estou com fome, Leroy. Não tem mais nada pra comer? — Amanhã, Deb, amanhã. Hoje não tem mais nada.
Ela dormiu mal. Leroy sentou-se no seu colchão e ficou olhando pela janela. Nuvens brancas e alaranjadas pairavam estáticas no céu. Ele se sentia um pouco tonto, até meio febril, como se a doença que Debra tinha tivesse passado para ele.
Lembrava-se de como se sentia pobre, mesmo quando tinha sementes para vender, quando cada mês terminava com um esforço desesperado para ter dinheiro suficiente para o aluguel. Mas, agora... Sentado, olhava a sombria figura de Debra, as paredes, o fogareiro e os utensílios encostados no canto, as nuvens fora da janela. Nada mudou. Faltava apenas uma hora ou duas para o amanhecer quando adormeceu, ainda sentado contra a parede.
No dia seguinte, lutou contra a febre para conseguir dinheiro para as batatas em cabines telefônicas e nas sarjetas, mas só tinha trinta e cinco centavos quando teve de desistir.
Bebeu tanta água quanto pôde, dormiu no parque e depois foi ver Victor.
— Vic, me empresta sua gaita hoje à noite.
O rosto de Victor se contraiu, pouco à vontade.
— Não dá, Robbie. Preciso dela. Sabe como é... — implorando que o outro entendesse.
— Sei — disse Leroy, olhando fixo para o nada. Tentava pensar. Os dois amigos se entreolharam.
— Ei, cara, você pode usar minha flauta eunuca.
— O quê?
— É, cara. Eu tenho uma boa flauta eunuca aqui. É de metal, e tem um bom som. Parece com o de uma gaita e é mais fácil de tocar. Você apenas vibra as notas.
Leroy experimentou.
— Não, cara, vibre. Vibre.
Leroy tentou novamente, e o tubo emitiu uma longa nota distorcida.
— Tá vendo? Vibre uma canção, agora. Leroy vibrou algumas notas.
— Você pode praticar na minha gaita até ficar bom e conseguir a sua própria. Você não vai ganhar nada com uma gaita até saber tocá-la, de qualquer forma.
— Mas isto aqui... — Leroy disse, olhando para a flauta eunuca.
Victor deu de ombros.
— Vale a pena tentar.
Leroy concordou,
— É — deu um tapinha nas costas de Victor e abraçou-o.
Apontou para a tabuleta de Victor, que dizia: Ajude um músico!
— Você acha que isso ajuda?
Victor deu de ombros.
— Acho.
— Falou. Vou ficar noutro lugar mais distante para não prejudicar teu negócio.
— Tudo bem. Depois volta e conta como foi.
— Volto.
Leroy andou até a esquina da Connecticut com a M, onde as calçadas eram largas e havia muitos bancos e restaurantes.
Há pouco se dera o pôr-do-sol e o calor era tão opressivo quanto ao meio-dia. Tinha um pedaço de papelão, encontrado em uma lata de lixo; cortou cuidadosamente um quadrado com as mãos, tirou a esferográfica do bolso e copiou a mensagem de Delmont. POR FAVOR AJUDE — ESTOU FAMINTO. Sempre admirara a sua concisão, como ia direto ao ponto.
Mas, quando chegou ao que parecia ser uma boa esquina, não conseguiu se sentar. Ficou por ali, começou a andar para ir embora, voltou. Bateu com o punho na perna, olhou em volta com raiva, andou até o meio-fio e sentou para repensar as coisas. Finalmente, caminhou até a pilastra de entrada de um banco, que invadia metade de calçada, e encostou-se nela. Colocou a tabuleta apoiada na pilastra e seu velho boné de beisebol virado ao contrário sobre a calçada à sua frente. Jogou seus trinta e cinco centavos nele como isca. Tirou a flauta eunuca do bolso e deslizou os dedos por ela.
— Merda — disse para a calçada, com os dentes trincados — Se você vai me fazer viver desta meneira, vai ter de compensar.
— E começou a tocar.
Tocou tão alto que a flauta eunuca estrilou, e seu rosto inchou até as bochechas doerem. Columbia, the Gem of the Ocean soprava no rosto dos passantes, cada vez mais alto...
Quando sua raiva acabou, parou para considerar as coisas. Não ia ganhar dinheiro nenhum daquele jeito. Os gravatinhas e as mulheres de negócios, com roupas e sapatos de corrida, olhavam para ele e esgueiravam-se para o meio-fio quando passavam por ali, espremendo-se cada vez mais em seus pequenos rebanhos enquanto os guarda-costas se interpunham entre eles. Isso não dava dinheiro.
Respirou fundo e começou novamente. Swing Low, Sweet Chariot. Aquilo sim é que era tocar. E que música. Você podia colocar seu coração nela, todo o seu corpo. Era como se cantasse.
Um dos rebanhos parou perto dele; esperavam que o sinal ficasse verde para atravessar a rua. Era como ele havia observado com Delmont: os advogados olhavam através dos mendigos, não queriam nem pensar neles. Ele tocou mais alto, e um rapaz olhou rapidamente por cima do ombro. Rosto anguloso, óculos de aro de metal — num instante Leroy reconheceu o homem que havia expulsado do parque do Peixe alguns dias antes. O sujeito não olhou diretamente para Leroy e, portanto, não o reconheceu.
Talvez nem se lembrasse mais, de qualquer forma. Mas estava ouvindo a flauta eunuca. Virou-se para os companheiros, estudantes que se juntaram ao rebanho de advogados pela proteção temporária dos guarda-costas. Disse alguma coisa para eles — “Adoro música de rua”, ou coisa parecida — e tirou um dólar do bolso. Correu e enfiou a nota dobrada no boné de beisebol de Leroy, sem olhar para cima. O sinal verde acendeu e todos atravessaram. Leroy continuou tocando.
Naquela noite, depois de alimentar Debra com as batatas e ele próprio comer umas duas, lavou a panela no banheiro e depois levou uma lata de sopa de champignons para Rochelle, que o recebeu com um sorriso enorme.
Descendo as escadas, soprava a flauta eunuca, ouvindo o eco nas escadas. Ramón passou por ele e sorriu.
— Vou começar a te chamar de Robinson Caruso — disse, rindo. — Podes crer.
Leroy voltou ao seu quarto. Ele e Debra conversaram um pouco, e depois ela caiu num sono leve, e conversava como se estivesse sonhando.
— Não, tudo bem — Leroy disse baixinho. Estava sentado em seu colchão, encostado contra a parede. A tabuleta de papelão estava de costas para a parede. A flauta eunuca estava na boca e vibrava com suas palavras. — Vai ficar tudo bem. Vou pegar algumas sementes com o Delmont, e levar os potes para esconderijos melhores.
Ocorreu-lhe que o aluguel venceria em duas semanas; afastou o pensamento da cabeça.
— Talvez começar alguns jardins na terra de ninguém. E praticar na gaita de Vic, e, depois, comprar uma na loja de penhores.
Tirou a flauta da boca e ficou olhando para ela.
— Esse modo de ganhar grana é muito estranho. Ajoelhou-se à janela, colocou a cabeça para fora e vibrou a flauta eunuca.
Canção após canção rumorejavam pelo ar quente e parado. Do andar abaixo, Ramón botou a cabeça para fora da janela para reclamar.
— Ei, Robinson Caruso! Ha, ha! Pára com essa porra. Estou tentando dormir!
Mas Leroy apenas baixou o volume. Columbia, the Gem of the Ocean...
R & R – Lucius Shepard
1
Um dos novos Sikorsky de ataque, uma unidade do Primeiro de Cavalaria Aerotransportada com as palavras “Morte Sussurrante” pintadas em um dos lados, levou Mingolla, Gilbey e Baylor de Ant Farm para San Francisco de Juticlan, uma pequena aldeia localizada na zona verde, que nos mapas mais recentes foi chamada de “Guatemala Livre”. Para o leste desta zona verde está uma faixa não-designada amarela, que cruza o país da fronteira mexicana até o Caribe. Ant Farm era uma base de ataque na borda oriental da faixa amarela, e foi de lá que Mingolla — um especialista de artilharia que não tinha ainda 21 anos de idade — atirou ogivas numa área representada por marcas de terreno brancas e pretas. E era desta maneira que ele freqüentemente pensava sobre si mesmo — engajado numa luta para fazer do mundo um lugar seguro para as cores primárias.
Mingolla e seus companheiros poderiam ter tomado seu R&R no Rio ou em Caracas, mas eles tinham notado que os homens que visitavam estas cidades tinham uma tendência a se tornarem descuidados quando retornavam; eles entenderam que o mais exuberante R&R implicava maiores chances de sofrer baixas, e assim sempre optavam por distrações menores nas cidadezinhas guatemaltecas. Eles não eram realmente amigos: tinham pouco em comum, e sob circunstâncias diferentes poderiam muito bem ter sido inimigos. Mas tomar seu R&R — Repouso & Recreação — juntos tinha-se tornado algo como um ritual de sobrevivência, e uma vez que tivessem chegado à cidade de sua escolha, poderiam seguir caminhos diferentes e executar rituais futuros. Como eles já haviam sobrevivido por muito tempo, acreditavam que se continuassem a executar estes mesmos rituais, poderiam terminar aquele passeio turístico intocados.
Nunca reconheceram esta crença um para o outro, falando dela apenas indiretamente — o que era também parte do ritual —, e tivesse esta crença sido desafiada, eles poderiam admitir sua irracionalidade; entretanto poderiam ter também assinalado que as estranhas características daquela guerra agiam para reforçar tais crenças.
O helicóptero de ataque pousou numa base aérea dois quilômetros a oeste da cidade, uma faixa de cimento confinada por barracas e escritórios por três lados, com a selva se erguendo por trás de tudo. No centro da faixa outro Sikorsky estava praticando decolagens e pousos — um bêbado e camuflado dragão voador — e dois outros estavam parados no ar logo acima, supervisionando como se fossem pais ansiosos. Quando Mingolla saltou, uma brisa quente enfunou sua camisa. Estava usando trajes civis pela primeira vez em semanas, e pareciam débeis, comparados ao seu equipamento de combate; ele olhou em volta, nervoso, na expectativa de que um inimigo na espreita pudesse tentar tomar vantagem de sua posição exposta. Alguns mecânicos estavam descansando na sombra de um helicóptero cuja carlinga havia sido destruída, deixando cacos afiados de plástico curvados sobre o metal queimado. Jipes empoeirados rodavam para a frente e para trás por entre os prédios; um punhado de tenentes engomados e frescos estavam fazendo uma enérgica linha de formação em frente a uma empilhadeira cheia até o topo com caixões de alumínio. O sol da tarde chamejou sobre as tampas e as alças dos caixões e através da neblina quente a distante linha de barracas ondulava como um monótono mar de óleo agitado. A incongruência desta cena — uma mistura do tipo “O-que-é-que-está-errado-neste-desenho” entre o horrível e o lugar-comum — abalou Mingolla. Sua mão esquerda tremeu, e a luz pareceu brilhar mais forte, deixando-o fraco e confuso.
Apoiou-se no porta-foguetes do Sikorsky para recuperar o equilíbrio. Lá em cima, trilhas de fumaça esfiapavam-se no profundo azul do céu; XL-16s partindo para abrir buracos na Nicarágua.
Olhou para eles com algum sentimento próximo à saudade, procurando ouvir seus motores, mas só ouvindo o som espaçado dos motores dos Sikorskys.
Gilbey saltou pela escotilha que levava ao setor do computador, atrás da carlinga; limpou uma sujeira imaginária do jeans, caminhou devagar até Mingolla e parou com as mãos nos quadris: um garoto baixinho e musculoso cujo cabelo louro cortado rente e a boca petulante davam-lhe a aparência de um moleque birrento. Baylor esticou a cabeça para fora da escotilha e examinou com ar preocupado o horizonte. Então, também, saltou para fora. Ele era alto e ossudo, dois anos mais velho que Mingolla, com cabelo negro e liso, pele espinhenta cor de oliva e feições tão angulosas que pareciam ter sido esculpidas a macha-dadas. Descansou uma das mãos num dos lados do Sikorsky, mas quase instantaneamente, notando que ele estava tocando o S flamejante do “Morte Sussurrante”, a retirou para longe como se ela tivesse sido queimada. Três dias atrás havia acontecido um ataque geral a Ant Farm, e Baylor não havia ainda se recupe-rado dele. Nem Mingolla. E era difícil dizer se Gilbey fora afetado ou não.Um dos pilotos do Sikorsky abriu a porta da carlinga.
— Vocês todos podem pegar uma corrida até “Frisco” no PC — disse ele, a voz abafada pela bolha negra do seu visor. O sol dardejava um brilho branco sobre ele, fazendo-o parecer que era todo noite, com uma única estrela.
— Onde é o PC? — perguntou Gilbey.
O piloto disse alguma coisa, muito abafada para ser compreendida.
— O quê?
Novamente a resposta do piloto veio incompreensível. E Gilbey ficou irritado.
— Tira esta merda fora! — disse ele.
— Isto? — O piloto apontou para o visor. — Pra quê?
— Pra que eu possa ouvir o que você tá falando.
— Pode ouvir agora, não pode?
— Muito bem... — disse Gilbey com voz dura. — Onde está a merda do Posto do Correio?
A resposta do piloto foi ininteligível; sua cara inexpressiva contemplou-o com inescrutável intento.
Gilbey ergueu os punhos agitadamente.
— Tira esta filha da puta daí!
— Não pode, soldado — disse o segundo piloto, apoiando-se para fora de forma que duas bolhas negras estavam quase lado a lado.
— Estas coisas aqui — ele cutucou seu visor — têm microcircuitos que irradiam merda em nossos olhos. Afetam nossos nervos óticos. Nos faz ver os comedores de feijão mesmo quando eles estão camuflados. Quanto mais os usarmos, melhor vemos.
Baylor deu uma gargalhada mordaz e Gilbey disse “idiotice”. Mingolla, naturalmente, supôs que os pilotos estavam mexendo com Gilbey, ou então sua relutância em remover os visores originava-se de alguma superstição, talvez de alguma crença ilusória de que os visores realmente portavam poderes especiais.
Mas sendo aquela uma guerra em que drogas de combate eram distribuídas e telepatas previam os movimentos do inimigo, qualquer coisa era possível — mesmo microcircuitos que ampliavam a visão.— Você não vai querer olhar pra gente, e de qualquer forma — disse o primeiro piloto — as irradiações deformam nossas caras. Parecemos deformados congênitos.
— É claro que você pode não notar as mudanças — disse o segundo piloto. — Muita gente não nota. Mas se você o fizer, vai lhe perturbar um bocado.
Imaginar as deformidades dos pilotos enviou um doentio calafrio que subiu pelo estômago de Mingolla. Porém Gilbey não estava engolindo aquela história.
— Você acha que sou estúpido? — gritou ele, com o pescoço avermelhado.
— Não — disse o primeiro piloto. — Nós podemos ver que você não é estúpido. Nós podemos ver um monte de coisas que outras pessoas não podem, por causa das irradiações.
— Todo tipo de coisas esquisitas — interrompeu o segundo piloto. — Como almas.
— Fantasmas.
— Mesmo o futuro.
— O futuro é nosso melhor número — disse o primeiro piloto. — Se vocês, rapazes, quiserem saber o que os aguarda, nós diremos pra vocês.
Eles concordaram em uníssono, o fulgor do sol escorregando através de ambos os visores: dois robôs malignos respondendo ao mesmo programa.
Gilbey arremeteu contra a porta da carlinga. O primeiro piloto fechou-a rapidamente, e Gilbey esborrachou-se contra o plástico, gritando maldições. O segundo piloto cutucou uma chave no console de controle, e um momento mais tarde sua voz amplificada explodiu:
— Vá em linha reta, passe pela empilhadeira, e continue até as barracas. Você vai parar dentro do PC.
Foi preciso que Mingolla e Baylor arrastassem Gilbey para longe do Sikorsky, e ele não parou de esbravejar até chegarem à empilhadeira com sua carga de caixões: um tesouro de gigante em lingotes de alumínio. Então aos poucos ele ficou silencioso e seus olhos baixaram. Conseguiram uma carona com um policial militar, que estava do lado de fora do PC, e quando o jipe roncou por sobre o cimento, Mingolla lançou um olhar para o Sikorsky que os havia transportado. Os dois pilotos haviam montado duas espreguiçadeiras no chão, despido suas roupas, com exceção dos calções, e agora tomavam sol. Mas eles não removeram seus capacetes. A justaposição esquisita de corpos bronzeados e brilhantes cabeças negras perturbaram Mingolla, lembrando-o de um velho filme em que um homem tinha entrado num transportador de matéria junto com uma mosca, e havia terminado com a cabeça da mosca sobre seus ombros. Talvez os capacetes fossem exatamente como disseram — impossíveis de serem removidos. Talvez a guerra tenha produzido realmente aquela extravagância.
O policial militar notou que ele estava observando os pilotos e soltou uma gargalhada que mais parecia um latido.
— Aqueles caras — disse, com a obesa ênfase de um homem que sabia exatamente o que estava falando — são doidos varridos!
Há seis anos, San Francisco de Juticlan era um ajuntamento de cabanas de sapê e estruturas de concreto construídas entre palmeiras e bananeiras, na margem leste do rio Dulce, na junção do rio com uma estrada de cascalho conectada com a rodovia Pan-americana; mas desde então cresceu, ocupando substanciais seções de ambas as margens do rio, aumentada por dúzias de bares e bordéis: cubos de estuque pintados em todas as cores do arco-íris, com um fantástico bestiário de anúncios de néon montados no topo de seus finos telhados. Dragões, unicórnios, pássaros de fogo, centauros. O policial militar explicou que os sinais não eram anúncios e sim símbolos de orgulho codificados: por exemplo, pela representação de um tigre vermelho alado sentado entre lírios verdes e cruzes azuis, você poderia deduzir que seu proprietário é um rico membro de uma sociedade secreta católica, e neutro em questão de política governamental. Velhos desenhos estavam constantemente sendo desmanchados, para dar lugar a maiores e mais ornados quadros que serviriam de testemunho de seus lucros crescentes, e esta guerra de luzes e imagens era bem apropriada ao tempo e ao lugar, pois San Francisco de Juticlan era menos uma cidade do que um sintoma de guerra. Embora à noite o céu sobre ela fosse radiante, no chão ela era perversa e esquálida. Párias e vira-latas fuçavam pilhas de lixo, prostitutas já calejadas cuspiam das janelas, e, segundo o policial militar, não era raro tropeçar num cadáver, provavelmente vítima das gangues de crianças abandonadas que vivem no limiar da selva. Ruas estreitas de cor amarelo-castanho sórdida cortavam-se próximo aos bares, acarpetadas com dejetos de latas amassadas, fezes e vidro quebrado. Refugiados esmolavam a cada esquina, mostrando queimaduras e ferimentos de bala.
Muitos dos edifícios tinham sido levantados com tal pressa que suas paredes vergavam, seus telhados tombavam, e isto fazia as sombras que projetavam aparecerem exageradas em suas distorções, como se fosse o trabalho de um artista psicótico dando expressão visual a uma sinuosa corrente subterrânea de tensão.
Entretanto, quando Mingolla moveu-se por elas, sentiu-se à vontade, quase feliz. Seu humor era devido em parte ao seu pressentimento de que aquele seria um R&R muito bom (ele aprendeu a confiar em seus pressentimentos); mas isto pouco dizia quanto ao fato de que cidadezinhas como aquela tinham-se tornado para ele um tipo de vida alternativa, uma recompensa por ter resistido a uma fase dura da existência.
O policial deixou-os numa drogaria, onde Mingolla comprou uma caixa de estacionários, e então parou para um trago no Club Demônio: um lugarzinho cujas paredes caiadas eram iluminadas pela suave fosforescência do brilho de lâmpadas de cor púrpura, penduradas no teto como frutos radiativos. Estava lotado de soldados e prostitutas, muitos sentados em mesas à volta de uma pista de dança não muito maior do que um tapete grande. Dois casais oscilavam numa balada, que vinha de uma vitrola automática embutida entre caixotes dois-por-quatro. Velames de fumaça de cigarro erguiam-se com lentidão submarina sobre suas cabeças. Alguns soldados estavam maltratando suas prostitutas, e uma delas estava tentando roubar a carteira de um soldado que já estava mais para lá do que para cá; sua mão trabalhou por entre suas pernas, encorajando-o a projetar seus quadris para a frente — e quando ele o fez, com a outra mão ela fisgou a carteira, metida no bolso traseiro do jeans apertado. Toda a operação pareceu apática, pouco emocionante, como se a escuridão e a música-xarope houvessem engrossado o ar e estivessem retardando seus movimentos. Mingolla sentou-se no bar. O balconista olhou para ele de forma inquiridora, as pupilas coradas com reflexos púrpura, e Mingolla disse:
— Cerveja.
— Ei, dá uma olhada naquilo! — Gilbey escorregou para o banco ao lado e apontou para uma prostituta no fim do bar. A blusa estava meio-erguida, e os seios, a se julgar pelo seu aspecto cheio, firme, pareciam produto de uma cirurgia seletiva.
— Bonita — disse Mingolla, desinteressado. O balconista colocou uma garrafa de cerveja na frente dele, e ele tomou um gole; tinha gosto ácido, aguado, como uma destilação do ar fedorento.
Baylor tombou no banco ao lado do de Gilbey e enterrou a face entre as mãos. Gilbey disse alguma coisa para ele que Mingolla não pôde entender, e Baylor, erguendo a cabeça, disse: — Não vou voltar.
— Ai meu Deus! — disse Gilbey. — Não começa com essa lenga-lenga de novo.
Na semi-escuridão, os olhos de Baylor estavam envoltos em sombra. Olhou fixamente para Mingolla.
Eles vão nos pegar na próxima vez — comentou ele. — Deveríamos descer o rio. Os caras têm barcos em Livingston que podem levar a gente de volta pro Panamá.
— Panamá! — fungou Gilbey. — Não tem nada lá a não ser mais comedores de feijão.
— Nós estaremos bem na base — argumentou Mingolla. — Se as coisas ficarem pesadas por lá, os caras tiram a gente.
— Ficarem pesadas? — Uma veia saltou na têmpora de Baylor. — O que você chama de “ficarem pesadas”?
— É foda! — Gilbey levantou-se pesadamente do banco.
— Você cuida dele, tá? — disse a Mingolla, e gesticulou para a prostituta de seios grandes: — Vou escalar o monte Silicone.
— Nove horas — disse Mingolla — no PC. Certo?
— Tá. — Gilbey afastou-se.
Baylor trocou de lugar e se inclinou para junto de Mingolla: — Você sabe que eu tô certo — comentou, num murmúrio urgente.
— Eles quase pegaram a gente desta vez.
— A cavalaria aerotransportada vai cuidar deles — retrucou Mingolla, afetando tranqüilidade. Ele abriu a caixa de estacionários e pegou uma caneta do bolso da camisa.
— Você sabe que eu tô certo — repetiu Baylor.
Mingolla cutucou os lábios com a caneta, fingindo estar distraído.
— A cavalaria! — disse Baylor numa gargalhada desesperada. — Nossa gloriosa cavalaria não vai ficar de braços cruzados!
— Por que você não fala isso num tom decente? — sugeriu Mingolla.
— Veja se eles não pegam os gatunos direitinho!
— Porra! — Baylor agarrou-lhe o pulso. — Será que não entende, cara? Esta merda não tem mais futuro!
Mingolla o sacudiu, livrando o pulso.
— Acho que você precisa de uma mudança — disse friamente. Ele desenterrou um punhado de moedas do bolso e as atirou na caixa registradora. — Lá! Lá está uma mudança!
— Tô dizendo pra você...
— E eu não quero ouvir! — cortou Mingolla.
— Você não quer ouvir? — disse Baylor, incrédulo. Ele estava prestes a perder o controle. Sua face escura estava escorregadia com suor, uma pálpebra tremia. — Se a gente não fizer alguma coisa juntos agora, breve, nós vamos morrer! Você ouviu, não é?
Mingolla agarrou-o pelo colarinho.
— Cala a boca!
— Não vou calar não! — estrilou Baylor. — Você e Gilbey, cara, vocês pensam que podem salvar suas bundas enterrando a cabeça na areia. Mas eu vou fazer vocês ouvirem. — Ele lançou a cabeça para trás, a voz se erguendo num grito. — Nós vamos morrer! O jeito com que ele gritou, quase com prazer, como um garoto dizendo um palavrão na frente dos pais, deixou Mingolla possesso. Já estava de saco cheio das cenas de Baylor. Sem pensar, desferiu-lhe um soco, segurando o punho no último instante.
Manteve o colarinho seguro e golpeou de leve o queixo, só o suficiente para fazer sua cabeça se afastar para trás. Baylor piscou, espantado, boquiaberto. Escorreu sangue pelas suas gengivas.
Do outro lado do balcão, na caixa registradora, o balconista estava apoiado no balcão, ao lado de uma fileira de garrafas de licor, observando — juntamente com outros soldados — Mingolla e Baylor: eles pareciam felizes, como se estivessem esperando um pouco de violência para deixar as coisas um pouco mais animadas. Mingolla sentiu-se perturbado pela atenção, envergonhado de sua demonstração de brutalidade.
— Ei, cara: desculpe, tá? — disse ele.
— Enfia suas desculpas no cu! — retrucou Baylor, esfregando a boca.
— Vamos embora desta porra de lugar!
— Vai embora sozinho então. Tá legal?
Mas Baylor não poderia ir embora sozinho. Ele continuou a argumentar, adotando o tom sofredor de alguém que suporta com bravura alguma grande injustiça. Mingolla tentou ignorá-lo, estudando o rótulo de sua garrafa de cerveja: um desenho preto e vermelho retratando um soldado guatemalteco, o rifle erguido num gesto de vitória. Era um desenho atraente, que o fazia recordar-se do desenho que ele havia feito antes de ser convocado.
Mesmo considerando a falta de confiança das tropas da Guatemala, a pose heróica era uma piada. Ele rasgou uma trincheira através do centro do rótulo com a unha do polegar.
Por fim Baylor desistiu e sentou-se, mirando a capa dobrada da caixa registradora. Mingolla deixou-o sentado em silêncio por um minuto. Então, sem tirar o olhar da garrafa, disse: — Por que você não coloca a coisa de um jeito mais decente? Baylor baixou o queixo até o peito, mantendo um silêncio teimoso.
— É só sua opinião, cara — continuou Mingolla. — O que mais você vai fazer?
— Você tá louco — disse Baylor. Ele piscou o olho com agitação em frente a Mingolla e sibilou como que amaldiçoando.
— Louco!
— Você vai partir para o Panamá por conta própria? Uhn...Uhn. Você sabe que nós três podemos conseguir. Já chegamos muito longe, e se você acha com certeza que isto é o certo, voltaremos pra casa juntos.
— Não sei. Não sei mais nada.
— Olhe por este ângulo. Pode ser que nós três estejamos do lado certo. Pode ser que o Panamá seja a resposta, mas ainda não é a hora certa. Se for, Gilbey e eu saberemos, mais cedo ou mais tarde.
Com um pesado suspiro, Baylor se pôs de pé.
— Vocês nunca saberão, cara — retrucou ele com tristeza.
Mingolla tomou um gole de cerveja.
— Cheque se eles têm algum gatuno localizado. Eu posso entrar em contato com alguns.
Baylor parou por um momento, indeciso. Ele foi para a vitrola automática, então mudou de direção, indo para a porta.
Mingolla permaneceu tenso, preparando-se para ir atrás dele.
Porém Baylor parou e caminhou de volta para o bar. Linhas de tensão estavam profundamente escavadas em sua testa.
— Certo — disse, com um toque de compreensão na voz.
— Certo. A que horas amanhã? Nove horas?
— É isso aí. No PC — disse Mingolla, virando-se.
Pelo canto do olho viu Baylor cruzar a sala e apoiar-se sobre a vitrola automática, para examinar o repertório. Sentiu-se aliviado. Era desta maneira que seus R&R tinham começado, com Gilbey escolhendo uma prostituta e Baylor alimentando a vitrola automática, enquanto ele escrevia uma carta para casa.
No seu primeiro R&R ele escreveu aos seus pais sobre a guerra e suas bizarras formas de atrito: então, descobrindo que a carta poderia alarmar a mãe, rasgou-a e escreveu outra, dizendo simplesmente que estava bem. Poderia ter rasgado esta também, mas se perguntou como seria a reação do pai se a lesse.
Seria principalmente de raiva. Seu pai era um crente firme em Deus e Pátria, e embora Mingolla compreendesse a futilidade de aderir a qualquer código moral em vista da insanidade à sua volta, descobriu que alguma coisa dos dogmas do pai havia-se transferido para ele: nunca seria capaz de desertar, como Baylor continuamente insistia. Sabia que não era simples... outros fa-tores, também, foram responsáveis pela sua devoção ao dever.
Mas uma vez que seu pai poderia ter-se sentido feliz em aceitar a responsabilidade, Mingolla tendeu a censurá-la nele. Tentou vi-sualizar o que os pais estavam fazendo naquele momento: papai assistindo a jogos na tevê, mamãe cuidando do jardim, e então, mantendo estas imagens na mente, começou a escrever.
“Queridos mamãe e papai,
“Na última carta de vocês, perguntaram se eu pensava que estávamos ganhando a guerra. Aqui embaixo pode-se ter um monte de olhares vazios em resposta a esta questão, porque muitas pessoas têm uma perspectiva tal da guerra que o seu resultado global não é relevante. Como um cara que eu conheço que tem verdadeiro entusiasmo sobre como a guerra é uma operação mágica de imensas proporções, como o movimento dos aviões e soldados inscrevem um signo místico na superfície da realidade, e para sobreviver tem-se que descobrir sua localização dentro do padrão e se mover de acordo com ele. Estou certo que isto soa como maluquice para vocês, mas aqui embaixo a maluquice de todo mundo é do mesmo estilo (algum psiquiatra deve ter feito um estudo sobre a incidência de superstições entre as forças de ocupação). Eles procuram por uma mágica que possa assegurar-lhes a sobrevivência. Vocês podem achar difícil de acreditar que apoio este tipo de coisas, mas eu o faço. Gravei minhas iniciais em ogivas, usei penas de papagaio debaixo do capacete... e muito mais.
“Voltando à pergunta de vocês, tentarei fazer melhor do que ter um olhar vazio, mas não posso dar a vocês um simples Sim ou Não. A questão não pode ser resolvida com tal clareza. Mas posso ilustrar a situação contando pra vocês uma história e deixar que tirem suas próprias conclusões. Há centenas de histórias que poderiam servir, mas aquela que me vem à mente agora é sobre A Patrulha Perdida..!’
Uma canção dos gatunos veio da vitrola automática, e Mingolla parou de escrever para escutar: música nervosa, furiosa, que parecia ser alimentada pela mesma paranóia agressiva que havia gerado a guerra. As pessoas começaram a afastar as cadeiras, virar as mesas e dançar nos espaços vazios; estavam amontoados todos juntos, somente capazes de se agitar no ritmo, mas seus passos balançavam as lâmpadas, penduradas na extremidade dos fios, fazendo o brilho púrpura saltar sobre as paredes. Um prostituta magra, com a face repleta de cicatrizes de acne, veio dançar em frente a Mingolla, sacudindo os seios, mostrando os braços para ele. A face tinha a palidez de um cadá-
ver sob a luz instável, o sorriso vazio e morto. Escapulindo de um dos olhos, como alguma estranha secreção da morte, corria uma lágrima negra de suor e rimel. Mingolla não tinha certeza de a estar vendo direito. A mão esquerda começou a tremer, e por dois segundos a cena inteira perdeu sua consistência. Tudo pareceu desorganizado, irreconhecível, colocado num contexto separado de tudo mais — uma girândola de objetos desprovidos de significado subindo e descendo na maré da música insana. Então alguém abriu a porta, entrando uma corrente de luz solar, e a sala pareceu voltar ao normal. Zombando, a prostituta afastou-se dançando. Mingolla respirou aliviado. Os tremores em sua mão cessaram. Localizou Baylor próximo à porta, batendo papo com um rapaz guatemalteco... provavelmente pertencente a uma conexão de cocaína, que era a panacéia de Baylor, seu remédio contra o medo e o desespero. Ele sempre voltava do R&R com os olhos vagos e vermelhos e com o nariz escorrendo, jactando-se do grande barato que havia conseguido daquela vez. Era agradável ver que ele estava seguindo alguma rotina. Mingolla voltou para sua carta.
“...Lembram-se de quando contei pra vocês que os boinas-verdes tomavam drogas para torná-los lutadores melhores? Muita gente chama a droga de “Sammy”, que é um diminutivo para “Samurai”. Elas vêm em ampolas, e quando o cara as abre sob o nariz, pelos próximos trinta minutos ou mais ele se sente como um cruzamento entre um ganhador da Medalha de Honra e o Super-Homem. O problema é que muitos boinas abusam delas e caem fora. Elas são vendidas também no mercado negro, e alguns rapazes as usam por esporte. Eles tomam a droga e ficam lutando uns contra os outros em buracos... como galos de briga.
“De qualquer maneira, há cerca de dois anos uma patrulha dos boinas verdes saiu para patrulhar a Zona de Fogo Esmeralda, não muito longe de minha base, e não voltaram. Foram listados como baixas de combate. Um mês e tanto após eles terem desaparecido, alguém começou a furtar as ampolas de vários dispensários. No começo os roubos foram atribuídos aos guerrilheiros, mas então um médico pôde ver os ladrões e os reconheceu como sendo americanos. Estavam usando roupas rasgadas, agindo como débeis mentais. Um artista fez um retrato falado do líder, de acordo com as descrições do médico, e ele ficou idêntico ao sargento da Patrulha Perdida. Depois disso eles foram vistos em todos os lugares. Algumas aparições eram obviamente boatos, mas outras vezes eles de fato eram vistos. Disseram que eles haviam conseguido abater dois helicópteros dos nossos e atacado uma coluna de su-primentos próximo de Zacapas.
“Nunca levei muita fé na história, para dizer a verdade, mas cerca de quatro meses atrás um soldado de infantaria veio andando a pé da selva e fez um relatório à base. Ele afirmava ter sido capturado pela Patrulha Perdida, e quando ouvi a história, acreditei nele. Contou que eles disseram-lhe que não eram mais americanos e sim cidadãos da selva. Viviam como animais, dormindo sob as copas das palmeiras, abrindo ampolas noite e dia. Estavam loucos, mas haviam se tornado gênios na arte da sobrevivência. Sabiam tudo sobre a selva, quando o tempo mudava, quais os animais que se aproximavam. E tinham sua estranha religião, baseada nos raios de sol que poderiam brilhar através da folhagem. Eles se sentam sob estes focos de luz, como santos sendo abençoados por Deus, falando irracionalmente sobre a pureza da luz, da alegria de matar e sobre o novo mundo que iriam construir.
“Isto é o que me ocorre quando vocês fazem suas perguntas, mamãe e papai. A Patrulha Perdida. Não estou tentando ser circunspecto para apontar os horrores da guerra. De jeito nenhum. Quando penso na Patrulha Perdida, não fico pensando sobre como a guerra é triste e louca. Fico me perguntando o que é que eles vêem naquela luz, fico me perguntando se ela pode me ajudar. E talvez nisto resida a resposta de vocês dois...”
O crepúsculo já estava começando quando Mingolla deixou o bar para começar a segunda parte do seu ritual, para caminhar inocentemente, como um turista, através do bairro nativo, compartilhando de tudo que tivesse à mão, talvez jantando com uma família guatemalteca ou se enturmando com algum soldado de outra unidade e indo com ele à igreja, ou batendo papo com alguns garotos que lhe perguntassem sobre a América.
Tinha feito tais coisas nos R&R anteriores, e sua representação de inocência sempre o surpreendia. Se seguisse suas diretivas internas, incineraria os horrores da base de ataque de Ant Farm com prostitutas e drogas. Mas naquele primeiro R&R — tonteado pela experiência de combate e necessitando de solidão — um prolongado passeio havia sido seu curso de ação, e estava disposto a não só repeti-lo mas também recapturar seu estado de estupefação mental: não seria nada mau para um ritual. Nesta instância, dados os recentes eventos em Ant Farm, não teria de trabalhar muito para chegar ao estado de confusão.
O rio Dulce era um largo rio azul, correndo com leves ondulações. Uma selva fechada cercava-lhe as margens e faixas de capim amarelado cresciam em ambas as linhas de contato com a água. No local onde findava a estrada de cascalho havia um cais de concreto, e amarrada a ele estava uma barcaça que servia de transporte de veículos. Já estava com sua capacidade de carga completa — dois caminhões — e transportava além disso trinta passageiros. Mingolla embarcou e permaneceu na popa, ao lado de três soldados de infantaria que continuavam com seus trajes de combate, capacetes, e segurando rifles de dois canos que estavam conectados, por tubos flexíveis, a computadores em suas mochilas. Através de suas esfumaçadas telas faciais, ele pôde ver os verdes reflexos das leituras das telas dos seus visores.
Elas deixaram-no desconfortável, fazendo-o lembrar-se dos dois pilotos, e sentiu-se melhor após eles terem removido os capacetes, provando ter faces humanas normais. Estendida a um terço da viagem através do rio estava uma ampla superfície curva de concreto suportada por finas colunas, como uma peça caída de uma paisagem de Dali: uma ponte cuja construção havia sido interrompida. Mingolla a avistara do ar justo antes de pousar e não pensara muito a respeito. Mas agora a visão deixou-o num estado tempestuoso. Parecia menos uma ponte não-terminada do que um monumento a algum exaltado ideal, mais belo do que qualquer ponte concluída poderia ser. E enquanto permanecia absorto pela cena, com a fumaça do óleo da barcaça empestando tudo em volta, sentiu que havia uma analogia daquela bela forma curva dentro dele, que ele também era uma estrada terminada no meio do ar. Isto deu-lhe confiança para associar a si mesmo com tal suavidade e pureza, e por um momento deixou-se acreditar que também poderia ter — como o final anguloso da ponte implicava — um ponto de encerramento bastante além daquele antecipado pelos arquitetos do seu destino.
A margem oeste, para além da cidade e da estrada de cascalho, estava flanqueada de barracas de feira — estruturas esqueletais de madeira encimadas por folhas de palmeira. Crianças brincavam, saindo e entrando por entre elas, fingindo mirar e atirar um no outro com varas de cana-de-açúcar. Dificilmente haveria soldados por lá. As multidões que se moviam ao longo da estrada eram compostas principalmente de índios: tímidos casais de jovens com as mãos dadas, velhos que pareciam perdidos e que catavam papel com varas, matronas gordas que faziam cara feia aos preços altos, fazendeiros descalços que mantinham suas costas duramente retas e tinham expressão grave e carre-gavam seu dinheiro embrulhado em lenços. Numa das barracas Mingolla comprou um sanduíche e uma Coca-Cola, sentou-se num banco e comeu contente, apreciando muito o pão quente e o peixe temperado dentro dele, observando a vida passar. Nuvens cinzentas estavam se aglomerando e indo para o sul, para o Caribe. De vez em quando uma esquadrilha de XL-16s enflechava-se rumo ao norte, para os campos de petróleo além do lago Ixtabal, onde a luta estava mais acirrada. O crepúsculo caiu. As luzes da cidadezinha começaram a se recortar agudamente contra o ar púrpura. Sacaram-se guitarras, vozes grosseiras cantaram, a multidão encolheu. Mingolla pediu outro sanduíche com Coca-Cola. Encostou-se no banco, bebeu e mastigou, encharcado pela boa magia da terra, pela doçura daquele momento. Ao lado da barraca dos sanduíches quatro velhas estavam voltadas para um fogão de cozinha, preparando cozido de galinha e frituras de milho. Pedacinhos de cinza negra saltavam das chamas, e quando o crepúsculo tornou-se mais escuro, estes pedacinhos pareciam peças de um quebra-cabeça que estava sendo montado sobre sua cabeça, na imagem de uma noite sem estrelas.
Veio a escuridão. As multidões engrossaram novamente e Mingolla prosseguiu com seu passeio, percorrendo as barracas com colares de lâmpadas acesas ao longo de suas armações, fios partindo deles para geradores cujo pipocar superava o ruído de sapos e grilos. Barracas vendiam rosários de plástico, canivetes chineses, lanternas de latão. Outras vendiam encorpadas camisas indígenas, calças de saco de farinha, máscaras de madeira. Ainda havia outras, onde velhos em ternos mal-ajambrados sentavam-se de pernas cruzadas atrás de pirâmides de tomates, melões e pimentas verdes, cada uma com uma vela presa em cera derretida no topo, como altares primitivos. Gargalhadas, gritos, pregões de vendedores. Mingolla aspirou como perfume a fumaça do charco e o odor de frutas estragadas. Começou a caminhar preguiçosamente de barraca em barraca, comprando uns poucos suvenires para amigos em Nova York, sentindo-se parte da agitação, do ruído, do brilhante e negro ar, e por fim foi até uma barraca onde quarenta ou cinqüenta pessoas haviam-se juntado, bloqueando a vista de tudo, com exceção do teto. A voz amplificada de uma mulher gritou: “LA MARIPOSA!” Excitadas e barulhentas saudações da multidão. De novo a mulher gritou: “EL CUCHILLO!” As duas palavras que ela havia gritado — a mariposa e o canivete — intrigaram Mingolla, e ele tentou olhar através das cabeças da multidão.
Emoldurada pelo telhado de palha e pelos postes de madeira, uma mulher de pele com a cor do pôr-do-sol estava girando uma manivela que fazia rodopiar uma gaiola de arame. Estava cheia de cubos plásticos brancos, pregados a um tabuleiro numerado. Usava o cabelo puxado para trás do rosto, amarrado atrás do pescoço, e usava um vestido tomara-que-caia que deixava os ombros de fora. Ela parou de girar a manivela, abriu a gaiola e sem olhar despregou um dos cubos. Examinou-o, pegou um microfone e gritou: “LA LUNA!” Um cara barbado avançou e passou a ela um cartão. Ela checou-o, comparou-o com alguns cubos que estavam presos ao tabuleiro, e por fim deu ao rapaz barbado umas poucas notas de dinheiro guatemalteco.
A composição do jogo atraiu Mingolla. A mulher de pele escura, sua roupa vermelha e palavras misteriosas, as sombras rúnicas da gaiola de arame, tudo isso parecia mágico, uma imagem de um sonho oculto. Parte da multidão se afastou, acompanhando o vencedor, e Mingolla deixou-se empurrar para mais perto pela chegada de mais pessoas. Assegurou um lugar no canto da barraca, lutando para mantê-lo contra a multidão, e num relance viu a mulher sorrir para ele, a meio metro de distância, segurando um cartão e um toco de lápis.
— São só dez cents guatemaltecos — disse em inglês com sotaque americano.
As pessoas que flanqueavam Mingolla insistiram para que ele jogasse, sorrindo e dando tapinhas em suas costas. Mas ele não necessitava de incentivo. Sabia que iria vencer — era a mais clara premonição que jamais tivera, e ela foi assinalada principalmente pela mulher. Sentiu uma poderosa atração por ela. Era como se fosse uma fonte de calor... não só de calor, mas também de vitalidade, sensualidade, e agora que ela estava dentro do seu alcance, aquele calor estava se derramando sobre ele, fazendo-o consciente da tensão sexual entre os dois, trazendo-lhe o conhecimento de que ele deveria vencer. A força daquela atração surpreendeu-o, porque a primeira impressão que teve dela foi a de uma aparência exótica e não de beleza. Embora magra, era cadeiruda e os seios, embora empinados em duas pontas bem separadas, decalcados pelo vestido apertado que usava, eram bem pequenos. A face, assim como a cor, tinha a forma padrão dos índios do Leste, suas feições largas e voluptuosas cobrindo a delicada estrutura óssea. Mesmo assim, elas eram tão expressivas, tão finamente moldadas, que sua desproporção veio a parecer uma virtude. Se fosse mais afilada, esta poderia ter sido a face de uma daquelas damas e donzelas que podem ser vistas em gravuras religiosas hindus, ajoelhadas perante o trono de Krishna. Muito sensual, muito serena. Aquela serenidade, Mingolla decidiu, não era somente veneração — ia mais fundo. Mas no presente momento estava mais interessado em seus seios.
Pareciam bonitos erguidos daquela maneira, brilhando com um lustro de suor. Dois pudins tremelicantes.
A mulher girou o cartão em suas mãos e ele o tomou: um cartão de bingo simplificado, com símbolos em vez de letras e números. Ela desejou-lhe boa sorte e gargalhou, como se reagindo a alguma brincadeira particular. Então começou a girar a gaiola.
Mingolla não reconheceu muitos dos nomes que ela apregoou, mas um velho se aproximou dele e apontou para o quadrado apropriado onde ele havia acertado. Logo muitas fileiras estavam quase completas. “LA MANZANA.’”, gritou a mulher, e o velho puxou pela camisa de Mingolla, gritando por sua vez: “Se gano!” Quando a mulher checou seu cartão, Mingolla pensou sobre o mistério que ela representava. Sua calma, seu inglês com perfeito sotaque americano e a classe alta que isto implicava, a fez destoar de todo aquele ambiente. Talvez fosse uma estudante, cuja educação fora interrompida pela guerra... embora fosse muito velha para isso. Mingolla deu-lhe 22 ou 23 anos.
Talvez fosse universitária. Mas havia um ar mundano nela que não apoiava esta teoria. Ele observou seus olhos negros dardejarem para trás e para diante entre o cartão e os cubos plásticos.
Olhos largos, com pesadas pálpebras. A parte branca estava em tal contraste com sua pele escura que pareciam falsos: pedras leitosas com centros negros.
— Você vê? — disse ela entregando-lhe seu prêmio, quase três dólares, e outro cartão.
— Vejo o quê? — perguntou Mingolla, perplexo.
Mas ela começou a girar a gaiola de novo.
Ele ganhou três dos sef” cartões seguintes. As pessoas o congratulavam, sacudindo as cabeças em assombro. O velho aproximou-se ainda mais, sugerindo por meio de linguagens de sinais que ele foi o agente responsável pela boa sorte de Mingolla.
Entretanto, Mingolla estava nervoso. Seu ritual estava embasado no princípio dos pequenos milagres, e embora estivesse certo de que a mulher estava trapaceando com sua crença (isto, ele assumiu, fora a causa de sua risada, seu “Você vê?”), embora sua sorte não fosse realmente sorte, seu excesso ameaçou aquele princípio. Perdeu três cartões numa rodada, mas logo após venceu dois em quatro e ficou ainda mais nervoso. Pensou em ir embora. Mas o que aconteceria se isto fosse realmente sorte? Partir poderia fazê-lo incorrer numa falta em relação ao princípio mais alto: interferir com algum processo cósmico e com isto atrair a má sorte. Era uma idéia ridícula, mas ele não se permitiria arriscar a mais remota chance de isto ser verdade.
Continuou a vencer. As pessoas que o congratularam começaram a ficar desinteressadas e partiram, e quando só havia um punhado de jogadores, a mulher encerrou o jogo. Um sorridente moleque de rua materializou-se das sombras e começou a desmontar o equipamento. Desaparafusar a gaiola, desligar o microfone, guardar numa caixa os cubos plásticos, ensacar o restante num saco de juta. A mulher foi para trás da barraca e apoiou-se contra um dos pilares do teto. Com um meio-sorriso, ela virou a cabeça de leve, atraindo a atenção de Mingolla e então, quando o silêncio entre os dois começou a incomodar, ela disse: — Meu nome é Débora.
— David. — Mingolla sentiu-se tão desajeitado como um garoto de quatorze anos: ele teve que resistir à tentação de enfiar as mãos nos bolsos e olhar para outra direção.
— Por que você trapaceou? — perguntou ele. Tentando ocultar seu nervosismo, disse aquilo bem alto e em tom de acusação.— Queria chamar sua atenção. Eu estou... interessada em você. Não notou?
— Não queria me fiar nisso.
Ela riu.
— Eu aprovo! É sempre bom ser cauteloso.
Ele gostou de sua risada — tinha uma tranqüilidade que o fez pensar que ela poderia celebrar pelo menos uma coisa boa.
Três homens passaram de braços dados, bêbados, cantando. Um gritou para Débora, e ela respondeu com uma raivosa emissão de palavras espanholas. Mingolla poderia adivinhar o que foi dito, que ela tinha sido insultada por se misturar com um americano.
— Vamos para algum lugar? É melhor sair das ruas, Débora. — Depois que ele terminar. — Ela gesticulou para o moleque, que estava agora retirando a gambiarra com as lâmpadas.
— É engraçado. Eu tenho o talento, mas sempre fico desconfortável perto de alguém que também tem. Mas não com você.
— Talento? — Mingolla pensou que sabia do que ela estava falando, mas estava em dúvida em admiti-lo.
— Você chama isso de quê? Percepção extra-sensorial?
Ele desistiu da idéia de negar.
— Nunca dei um nome a isso — disse ele.
— É muito forte em você. Estou surpresa que você não seja do corpo psíquico.
Ele queria impressioná-la, envolver-se num mistério igual ao dela.— E como é que você sabe se eu sou ou não?
— Eu poderia dizê-lo. — Ela sacou uma bolsa preta por trás da caixa registradora. — Após a terapia com drogas há sempre mudanças no talento, na maneira que ele se manifesta. Não é sentido como calor, em relação a coisas. — Olhou no interior da bolsa. — Ou você não percebe deste jeito? Como calor.
— Tenho estado em volta de pessoas que sentem calor por mim, mas não sei o que isto significa.
— Isto é o que significa... às vezes. — Ela enfiou algumas notas dentro da bolsa. — Sendo assim, por que você não está no corpo psíquico?
Mingolla lembrou-se de sua primeira entrevista com um agente do corpo psíquico: um homem pálido e calvo com um ar inocente em torno dos olhos — que algumas pessoas cegas possuem. Enquanto Mingolla falava, o agente se interessou pelo anel que Mingolla lhe havia entregue para segurar, não prestando atenção em suas palavras, e olhou para fora distraidamente, como se ouvindo algum eco.
— Bem que eles tentaram me recrutar — disse Mingolla.
— Mas eu estava assustado com as drogas. Ouvi falar que tinham efeitos colaterais assustadores.
— Você tem sorte se for como voluntário. Aqui, eles simplesmente agarram você e pronto.
O moleque disse alguma coisa para ela; jogou o saco de juta por sobre o ombro, e após uma rápida troca de palavras em espanhol, ele correu em direção ao rio. A multidão ainda era grande, porém mais de metade das barracas já estavam fechadas. Aquelas que ainda permaneciam abertas — com seus tetos de folhas de palmeira e gambiarras de lâmpadas acesas e mulheres com os ombros de fora — pareciam rudes presépios enfileirados na escuridão. Além das barracas, sinais de néon acendiam e apagavam: um caótico zoológico de águias prateadas e aranhas escarlates e dragões índigo. Observando-os queimar e desaparecer, Mingolla experimentou uma onda de desorientação. As coisas estavam começando a ficar desconectadas como tinham estado no Club Demônio.
— Você está se sentindo bem? — perguntou ela.
— Estou somente cansado.
Ela o virou para ver seu rosto e pôs as mãos em seus ombros. — Não. É alguma coisa mais.
O peso de suas mãos, o odor de seu perfume, ajudaram-no a permanecer de pé.
— Houve um ataque à base há poucos dias. Ainda estou um pouco abalado, você sabe...
Ela deu-lhe uma leve sacudida nos ombros e deu um passo para trás.
— Talvez eu possa fazer alguma coisa. — Débora disse isto com tal gravidade que ele pensou que ela tivesse algo específico em mente.
— Como é que é?
— Direi a você no jantar... isto é, se você pagar a conta. — Tomou-o pelo braço, agradando-o. — Não acha que me deve muito, depois de toda aquela sorte?
— Mas por que você não está no corpo psíquico? — perguntou Mingolla enquanto caminhavam.
Ela não respondeu de imediato, mantendo a cabeça baixa, empurrando gentilmente um pedaço de celofane com o pé.
Passavam por uma rua deserta, bordejada à esquerda pelo rio — uma vala negra e grossa — e à direita pelas paredes dos fundos de alguns bares. Acima deles, atrás de uma treliça de suportes, um leão vermelho desabava mortalmente de algumas nuvens verdes.— Eu estava na escola, em Miami, quando eles começaram os testes aqui — disse ela, finalmente. — E logo após eu ter voltado para casa, minha família ficou no lado errado do Departamento Seis. Você conhece o Departamento Seis?
— Ouvi alguma coisa a respeito.
— Sádicos não servem como burocratas eficientes. Estavam mais determinados a nos torturar do que determinar o nosso valor. — Seus passos afundaram barulhentamente na sujeira.
Vitrolas automáticas gritavam por amor com vozes broncas, na próxima rua.
— O que aconteceu?
— À minha família? — ela deu de ombros. — Mortos. Nem mesmo se deram ao trabalho de notificar isto, mas não foi necessário. Confirmação, quero dizer. — Deu alguns passos em silêncio. — Quanto a mim... — um músculo crispou-se num canto de sua boca. — Fiz o que tinha de fazer.
Mingolla queria perguntar sobre detalhes, mas pensou melhor.— Sinto muito — disse ele, e então recriminou-se em pensamento por ter feito um comentário tão banal.
Os dois passaram por um bar onde imperava um sorridente macaco vermelho e púrpura de néon. Mingolla se perguntou se estas figuras brilhantes tinham algum significado para os binóculos dos guerrilheiros nas colinas: tubos mortos assinalando as horas de ataque ou os movimentos de tropas. Ele piscou para Débora, que não pareceu tão triste quanto estava um segundo atrás, e isto veio de encontro à impressão dele de que sua calma era produto de autocontrole, que suas emoções eram fortes, mas eram mantidas sob estreita vigilância, somente liberadas para fora por exercício. Lá longe, no rio, veio um splash, alguma fria mancha de vida que veio brevemente para a superfície, retornando em seguida para seu longo e ignorante deslizar pela escuridão... e isto ainda continuava sendo vida, embora não tão graciosa. Era deveras estranho caminhar ao lado de uma mulher que derrama calor como uma vela, com terra e céu fundidos num gás negro, e totens de néon montando guarda sobre suas cabeças.
— Merda — disse Débora, suspirando. Ele surpreendeu-se por ouvi-la xingando.
— O que é?
— Nada — disse ela, desconfiada. — É só “Merda”. — Apontou para a frente e apressou o passo.
— Cá estamos nós.
O restaurante era um lugar para trabalhadores, que ocupava o térreo de um hotel: um prédio de dois andares construído de blocos de concreto amarelos com um anúncio de Fanta pendurado e zumbindo sobre a entrada. Centenas de mariposas enxameavam em torno do anúncio, brancamente brilhando contra a escuridão, e em frente aos degraus da entrada estava um grupo de rapazes atirando seus canivetes num iguana. O iguana estava amarrado pelas pernas traseiras ao corrimão da escadaria. Tinha olhos cor de âmbar, o flanco cor de verdura cozida, e lutava contra a corda, enterrando suas garras no chão e arqueando sua nuca como um minidragão tentando levantar vôo.
Quando Mingolla e Débora subiram, um dos rapazes conseguiu acertar o réptil, pegando na cauda e fazendo-o pular para o ar, tentando sacudir a lâmina para fora. Os rapazes correram uma garrafa de rum entre si, para celebrar.
Com exceção do garçom — um rapaz com cara de pudim que estava se apoiando na parede ao lado da porta que abria para uma cozinha esfumaçada —, o lugar estava vazio. Brilhantes luzes sobre suas cabeças iluminavam as manchas de gordu-ra nos panos de mesa e as desiguais camadas de tinta amarela que cobriam as paredes, dando a impressão que derretiam e gotejavam. O chão de cimento estava sarapintado com manchas negras que Mingolla descobriu serem restos de insetos. De qualquer forma, a comida provou ser muito boa, e Mingolla raspou um prato cheio de arroz e galinha, antes mesmo que Débora tivesse terminado a metade do seu. Ela comeu de forma deliberada, mastigando por um bom tempo cada pedaço, e ele teve de sustentar toda a conversa. Contou-lhe sobre Nova York, suas pinturas, sobre como algumas galerias de arte haviam mostrado interesse em seu trabalho, mesmo quando não passava de um estudante. Comparou seu trabalho com o de Rauschenberg e com o de Silvestre. Não tão bons, é claro. Não ainda. Ele tinha a noção de que tudo o que havia contado a Débora — independente de sua irrelevância naquele momento — estava assegurando seu relacionamento, estabelendo ligações sutis: vislumbrou-se enredado com ela numa teia de fios luminosos, que agiam como conduítes para sua atração. Sentia seu calor mais forte do que nunca, e se perguntou como seria fazer amor com ela, como seria ser engolido por aquela percepção de calor. No instante em que se fez estas indagações, Débora encarou-o e sorriu, como se compartilhasse seus pensamentos. Ele queria ratificar este senso de intimidade, contar-lhe alguma coisa que não havia contado a ninguém mais e então — possuindo somente um único segredo — contar-lhe sobre o ritual.
Ela arriou o garfo e lançou-lhe um penetrante olhar.
— Você não pode realmente acreditar nisso, Mingolla.
— Eu sei que isso parece...
— Ridículo. É como isto soa.
— Mas é a verdade — disse ele, com ar desafiador.
Ela ergueu o garfo de novo, espalhando em volta alguns grãos de arroz.
— Como é que acontece com você, quando tem uma premonição? Quero dizer, como é que a coisa vem? Você tem sonhos, ouve vozes?
— Algumas vezes eu somente sei as coisas — disse ele, surpreendido pela sua abrupta mudança de assunto. — E algumas vezes vejo cenas, como se olhasse para uma tevê que não estivesse funcionando direito. Muito confuso no começo, mas no fim com uma imagem bem clara.
— Comigo é com sonhos. E alucinações. Não sei mais do que chamá-las. — Seus lábios se apertaram. Suspirou, parecendo ter chegado a uma decisão. — Quando vi você pela primeira vez, no primeiro segundo, você estava usando equipamento de combate. Havia entradas para equipamentos de luta diversos, cabos atados ao seu capacete. Sua tela facial estava despedaçada, e seu rosto... estava pálido e coberto de sangue. — Colocou a mão sobre a dele, cobrindo-a. — O que vi era muito claro, David. Você não deve voltar.
Ele não lhe havia descrito o equipamento de um artilheiro, e não havia jeito de ela já o ter visto antes. Chocado, ele disse: — Para onde eu vou?
— Panamá. Posso ajudá-lo a ir para lá.
De repente, ela enquadrou-se no clichê. Sempre se encontra destas, dúzias delas, em qualquer das cidades de R&R.
Pregando o pacifismo, encorajando a deserção. Meninas muito bondosas, a maioria com conexões com a guerrilha. E esta deve ter sido a maneira, raciocinou Mingolla, como ela sabia sobre seu equipamento. Provavelmente recolhera informações sobre os diversos tipos de unidades para dar autencidade aos seus audaciosos pronunciamentos. Sua opinião sobre ela não mudara.
Débora estava arriscando a vida falando com ele. Mas a aura de mistério de Débora havia diminuído.
— Não posso fazer isto.
— Por que não? Não acredita em mim?
— Não faria diferença se eu acreditasse.
— Eu...
— Veja, há um amigo meu que está sempre tentando me convencer a desertar, e houve vezes que eu mesmo desejei isto. Mas isto não está dentro de mim. Meu pé não se moveria nesta direção. Pode ser que você não entenda, mas é assim que são as coisas comigo.
— Esta infantilidade que você faz com seus dois amigos — começou ela, após uma pausa — é o que o está mantendo aqui, não é?
— Não é infantilidade.
— É exatamente o que é. Como uma criança caminhando para casa no escuro, e achando que se não olhar para as sombras, nada irá saltar dali em cima dela.
— Você não entende.
— Não. Suponho que não. — Raivosa, ela atirou seu guardanapo para baixo da mesa e parou intencionalmente perante o prato, como se lesse algum oráculo nos ossos de galinha.
— Vamos falar de outra coisa — sugeriu Mingolla.
— Eu tenho que ir — disse ela com frieza.
— Porque não vou desertar?
— É pelo que acontecerá se você não o fizer. — Ela apoiou-se na mesa, de frente para ele, a voz embargada pela emoção.
— Porque sabendo o que sei sobre seu futuro, não quero ir pra cama com você.
Sua intensidade o assustou. Talvez ela estivesse falando a verdade. Ias ele afastou a possibilidade.
— Fique. Vamos conversar um pouco mais a respeito.
— Você não ouviria. — Ela pegou a bolsa e se levantou. O garçom caminhou devagar e deixou a conta ao lado do prato de Mingolla. Sacou um saco plástico cheio de maconha do bolso do avental segurou-o em frente a Mingolla.
— Isto vai deixá-la no ponto, camarada — disse. Débora chamou-lhe a atenção em espanhol. Ele deu de ombros e saiu, seu passo lento era um anúncio dos bens que tinha à disposição. — Encontre-me amanhã, então — disse Mingolla. — Nós podemos conversar mais sobre isto amanhã.
— Não.
— Por que não me dá um tempo? Tudo isso surgiu rápido demais, você sabe. Venho aqui esta tarde, encontro você e uma hora mais tarde você está dizendo: “A Morte está em suas cartas, e o Panamá é a sua única esperança.” Preciso de algum tempo para pensar. Talvez amanhã eu possa ter uma atitude diferente.
Sua expressão suavizou-se, mas ela sacudiu a cabeça.
— Não.
— Você não acha isto pouco digno?
Ela baixou os olhos, por um segundo atrapalhada com o zíper de sua bolsa, por fim deixando sair um sibilo arrependido.
— Onde quer me encontrar?
— Que tal no cais deste lado? À tarde?
Ela hesitou.
— Tá legal. — Ela veio até o lado dele da mesa, abaixou-se e esfregou os lábios em sua face.
Ele tentou puxá-la para mais perto a fim de intensificar o beijo, mas Débora escorregou para longe. Ele sentiu-se tonto, afogueado.
— Você realmente vai estar lá? — perguntou ele.
Ela anuiu, mas pareceu preocupada, e não olhou para trás antes de desaparecer, descendo os degraus da saída.
Mingolla ficou sentado mais um pouco, pensando no beijo e sua promessa. Poderia ter ficado lá mais tempo, mas três soldados bêbados entraram e começaram a chutar as cadeiras, dando muito trabalho ao garçom. Aborrecido, Mingolla foi até a porta e parou, tomando fôlego no ar úmido. Mariposas formavam constelações sobre a plástica curva do anúncio de Fanta, tentando alcançar o brilho no seu interior, e ele teve um senso de relação, compartilhando seus anseios pelo impossível. Começou a descer os degraus, mas logo foi trazido para cima novamente.
Os rapazes tinham ido embora; entretanto, seu iguana cativo jazia no degrau inferior, ensangüentado e imóvel. Faixas cinzentas e líquidas escorriam de um corte na boca. Era um claro sinal de má sorte. Mingolla recuou para dentro e decidiu checar o andar de cima do hotel.
Os corredores do hotel fediam a urina e desinfetante. Um índio bêbado, com sua braguilha aberta e a boca ensangüentada, estava atirado à soleira de uma das portas. Quando Mingolla passou por ele, o índio bocejou e fez um gesto de mesura, uma paródia de boas-vindas. Então voltou para a soleira. O quarto de Mingolla era uma cela sem janelas, com três metros e meio de comprimento e a largura de um caixão, decorado com um ralo, uma cama e uma cadeira. Teias de aranha e poeira cobriam o vidro do Transom, reduzindo a luz do corredor num frio e leitoso brilho. As paredes eram cobertas por filmes feitos de teias de aranha, e o lençol estava tão sujo que não parecia ter qualquer desenho ou padrão. Ele deitou-se na cama e fechou os olhos, pensando em Débora; em rasgar fora seu vestido vermelho e dar-lhe uma foda. Como ela gritaria! Envergonhou-se de ambos os pensamentos e deu a si mesmo um puxão de orelha. Tentou pensar em fazer amor com ela de maneira terna. Mas ternura, aparentemente, estava longe dele. Brochou. Uma nova ereção não valeria o esforço. Começou a desabotoar a camisa, lembrou-se do lençol e decidiu que seria melhor dormir com suas roupas. Na escuridão por trás de seus olhos fechados começou a ver clarões de explosões, e com estes clarões as imagens do ataque a Ant Farm. A névoa, os túneis. Borrou tais imagens com a imagem do rosto de Débora, mas elas continuavam a vir. Finalmente, abriu os olhos. Duas... não, três estrelas negras e cabeludas estavam decalcadas contra o Transom. Só quando elas começaram a rastejar foi que ele percebeu que eram aranhas. E das grandes. Ele não costumava ter medo de aranhas, mas aquelas em particular o deixaram terrificado. Se atingisse uma delas com o sapato, ele quebraria o vidro e seria expulso do hotel. Ele não queria matá-las com suas mãos. Após um tempo ele se sentou, ligou a lâmpada sobre sua cabeça e procurou debaixo da cama. Lá não havia aranhas. Voltou a deitar-se, sentindo-se trêmulo e com falta de ar. Queria falar com alguém, ouvir uma voz familiar. “Tudo bem”, disse para o ar em trevas. Mas isto não ajudou. E por um longo tempo, até se sentir seguro o bastante para dormir, vigiou as três estrelas negras rastejando através do Transom, movendo-se até o centro, tocando uma a outra, se separando, nunca fazendo um real progresso, nunca partindo para sua área de brilhante confinamento, seu universo de luz coagulada e congelada.
2
Pela manhã, Mingolla atravessou o rio até a margem oeste e caminhou até a base aérea. Já estava quente, mas o ar ainda retinha um vestígio de frescor e o suor que havia molhado sua testa caiu limpo e saudável. Poeira branca estava se assentando sobre a estrada de cascalho, testificando uma recente passagem de tráfego. Passou pela cidade e pelo vão cortado e interrompido da ponte não completada. Altos muros de vegetação juntavam-se próximos à estrada, e do seu interior ouviu macacos, insetos e pássaros: sons cortantes que o encheram de vida, fazendo-o consciente da ação dos seus músculos. Na metade do caminho para a base viu seis soldados guatemaltecos, saindo da selva, arrastando dois corpos. Jogaram os cadáveres na traseira do seu jipe, onde dois outros corpos jaziam. Chegando mais perto, Mingolla viu que os mortos eram crianças despidas, cada uma com uma perfuração nas costas. Pretendeu passar adiante, mas um dos soldados — um diminuto homem de pele acobreada e usando trajes de combate azuis-escuros — bloqueou-lhe a passagem e exigiu seus papéis. Todos os soldados aproximaram-se e ficaram em volta, examinando os papéis, sussurrando, e por fim virando-se de volta, cocando as cabeças. Já acostumado a essas chateações, Mingolla não prestou atenção neles e olhou para as crianças mortas.
Elas eram magrinhas, queimadas de sol, jazendo com o rosto para baixo com os cabelos desarranjados caindo em franjas sobre a testa. Suas peles estavam purulentas e cobertas de mordidas de mosquitos, e a carne em torno dos buracos de bala estava enrugada para cima e queimada. Pelo seu tamanho, Mingolla julgou que tivessem cerca de dez anos de idade. Mas então ele notou aue um dos corpos era de uma garota bundudinha, marca de adolescência, os seios esmagados contra o metal. Isto o deixou indignado. Eram somente crianças que sobreviviam roubando e matando, e os soldados da Guatemala só estavam cumprindo o dever: eles executavam uma ação comparável à dos pássaros que caçavam piolhos no lombo de rinocerontes, mantendo sua besta americana livre de pragas e feliz. Mas não era direito tratar as crianças como se fossem caça abatida.
O soldado devolveu os papéis de Mingolla. Agora era todo sorrisos, e — talvez com interesse em solidificar as relações americano-guatemaltecas, talvez porque estivesse orgulhoso do seu trabalho — ele subiu no jipe e ergueu a cabeça da garota pelo cabelo, para que Mingolla pudesse ver-lhe a face.
— Bandita! — disse ele, franzindo a cara de um jeito cômico. A fisionomia da garota não era diferente da do soldado, com o mesmo formato de nariz e proeminentes maçãs do rosto. Sangue fresco brilhava-lhe nos lábios, e havia uma apagada tatuagem de uma serpente no meio da testa. Os olhos estavam abertos, e ao olhar dentro deles — apesar de seu aspecto nu-blado — Mingolla sentiu que tinha feito uma conexão, que ela o estava contemplando com tristeza de algum lugar atrás daqueles olhos, continuando a morrer passado o ponto da morte clínica.
Então uma formiga rastejou para fora de sua narina, parando na curva escarlate do lábio, e os olhos meramente olharam vazios.
O soldado deixou a cabeça cair e meteu a mão no cabelo de um segundo cadáver: mas antes que pudesse erguê-lo, Mingolla virou as costas e continuou a caminhar pela estrada, em direção à base aérea.
Havia lá uma fileira de helicópteros formada na beira da pista de aterrissagem, e caminhando por entre eles Mingolla viu os dois pilotos que o tinham transportado de Ant Farm. Estavam só de calção e com os capacetes, usando luvas de beisebol e brincando de agarrar as bolas lançadas um para o outro. Atrás deles, em cima do seu Sikorsky, um mecânico estava mexendo dentro da nacele do rotor principal. A visão dos pilotos não perturbou Mingolla como no dia precedente. De fato, ele achou aquela esquisitice de alguma forma reconfortante. Então, a bola escapou de um deles e quicou na direção de Mingolla. Ele a agarrou e a atirou de volta ao piloto mais próximo, que veio dando cambalhotas e parou pegando a bola e a metendo na cavidade da luva.
Com a cara negra e lustrosa e o suado e musculoso torso, parecia um jovem e excitado mutante.
— Cume que ela tá indo? — perguntou ele. — Pelo que aparenta, teve uma péssima noite.
— Eu tô legal — disse Mingolla, defensivamente —, mas é claro — ele sorriu fazendo pouco de sua posição defensiva —, talvez vocês vejam alguma coisa que eu não possa.
O piloto deu de ombros: a leveza do gesto pareceu conter algum bom humor.
Mingolla apontou para o mecânico: — Vocês quebraram alguma coisa, não é?
— Foi só uma sobrecarga. Vamos voltar amanhã cedo. Quer uma carona?
— Não. Vou ficar por aqui uma semana.
Uma corrente misteriosa fluiu através da mão esquerda de Mingolla, deixando um choque de paralisia. Foi muito mal desta vez, e ele enterrou a mão dentro do bolso da calça. A linha verde-oliva de barracas pareceu torcer, sofrendo um deslocamento e se transportando bem para adiante. Os helicópteros e jipes e homens uniformizados da pista pareceram de brinquedo: peças bastante realistas de um kit de base aérea dos “Comandos em Ação”. A mão de Mingolla bateu contra o tecido das calças como um coração doente.
— Eu tenho que ir — disse ele.
— Vai pra lá — disse o piloto — e você vai ficar legal.
As palavras tinham um sabor de diagnóstico preciso que quase convenceram Mingolla da habilidade do piloto de conhecer seu destino, que coisas como este tal destino podiam ser conhecidas. — Vocês realmente acreditam no que disseram ontem? Sobre seus capacetes? Sobre conhecer o futuro? — indagou Mingolla. O piloto atirou a bola ao cimento, agarrou-a na subida do rebote e parou. Mingolla pôde ver as linhas e o nome gravado no visor, mas nada do rosto por trás dele, nenhuma evidência de normalidade ou de deformidade.
— Me perguntam um bocado sobre isto. Pessoas se juntam à minha volta, cê sabe. Mas não vai me encher a paciência, vai?
— Não — disse Mingolla. — Eu não.
— Bem, é deste jeito. Nós ficamos zanzando em torno do nada, e vemos a merda cair no chão, merda que ninguém mais vê. Então pegamos a merda e a lançamos pra frente. Estivemos fazendo isto por dez meses, e ainda estamos vivos. É foda, cara. Acredite!
Mingolla estava desapontado.
— Sim, legal.
— Você ouviu o que eu disse? Quero dizer que somos sondas de prova vivas — Uh...uh. — Mingolla coçou a nuca, tentando pensar numa resposta diplomática, mas não conseguiu nada. — Acho que voltarei a ver você. — Começou a caminhar em direção ao PC.
— Se pendura lá, cara. — O piloto chamou, atrás dele. — Faça isto por mim! As coisas vão ficar claras pra você muito em breve. A cantina do PC era uma grande sala com aparência de celeiro, com paredes sem pintura — era o tipo de construção recente em que Mingolla podia sentir ainda o cheiro de serragem e resina. Trinta ou quarenta mesas. Uma vitrola automática, paredes nuas. Atrás do balcão, no fundo da sala, um soldado de cara azeda estava fazendo um inventário das bebidas e Gilbey — o único freguês — estava sentado próximo a uma das janelas da ala leste, saboreando uma xícara de café. Sua testa estava enrugada, e um raio de sol desceu brilhando sobre ele e sobre o local em que estava, fazendo-o parecer um ser divinamente inspirado, pronto para fazer alguma pescaria de almas.
— Onde está Baylor? — perguntou Mingolla, sentando-se no lado oposto a ele.
— Porra, não sei. — disse Gilbey, não tirando os olhos da xícara de café. — Ele estará lá.
Mingolla manteve a mão esquerda dentro do bolso. Os tremores estavam diminuindo, mas não rápido o bastante. Estava preocupado, pois poderia se espalhar que o tremor passou a ocorrer após o ataque. Deixou sair um suspiro, e nisto ele pôde sentir todos os seus nervos assoviando. O raio de sol parecia estar vibrando uma nota ondulada e dourada, o que também o preocupou. Alucinações. Então notou uma mosca zumbindo contra o vidro da janela.
— Como foi a noite passada?
Gilbey olhou para ele de maneira fria.
— Ah, você quer dizer Peitos Grandes. Ela me deixou ver se não tinha nenhum caroço. — Ele forçou um sorriso, então voltou a beber o café.
Mingolla ficou magoado por Gilbey não lhe ter perguntado sobre sua noite. Queria contar-lhe a respeito de Débora. Mas isto era típico do auto-envolvimento de Gilbey. Os olhos estreitos e a boca franzida eram as assinaturas de uma presença de espírito pervertida, que permitia poucas considerações fora o seu próprio bem-estar. Entretanto, apesar de sua insensibilidade, suas raivas estúpidas e conversação limitada, Mingolla acreditava que ele era mais esperto do que parecia, que disfarçar a inteligência pode ter sido uma tática de sobrevivência em Detroit, onde havia crescido. Graças a sua astúcia ele pôde seguir adiante: suas intuições sobre as personalidades de tenentes hostis, a maneira escorregadia de livrar-se de tarefas desagradáveis, sua habilidade em manipular seus pares. Ele usava a estupidez como uma capa, e talvez a tenha usado por tanto tempo que agora não poderia ser removida. Mesmo assim, Mingolla invejava suas virtudes, especialmente a maneira que se tornou insensível durante o ataque.
— Ele nunca se atrasou antes — disse Mingolla, após algum tempo.
— E daí que ele tá atrasado, porra? — cortou Gilbey, olhando de maneira ameaçadora. — Ele vai estar aqui!
Atrás do balcão, o soldado ligou um rádio e girou o dial, passando por música latina, música dos quarenta, e então passando por uma voz transmitindo, em inglês, os resultados do beisebol.
— Ei! — chamou Gilbey. — Vamos ouvir isto, cara! Quero saber o que aconteceu com os Tigers.
Dando de ombros, o soldado obedeceu.
— ...White Sox seis, A três — disse o comentarista. — É a oitava vitória do White Sox...
— Os White Sox estão botando pra quebrar — comentou o soldado, animado.
— White Sox! — Gilbey fungou. — O que são os White Sox fora um monte de comedores de feijão que acertam duas em cem e uns crioulos que cheiram coca? Merda! Todo verão começa com os White Sox lá em cima, cara. Então vem o inverno e as boas drogas chegam às ruas e eles acabam batendo as botas.
— Sim — anuiu o soldado. — Mas neste ano...
— Veja só aquele filho da puta do Caldwell — disse Gilbey, ignorando-o. — Eu o vi uns dois anos atrás, quando ele estava sendo testado pelos Tigers. Rapaz, aquele cara sabia fazer um lançamento! Agora ele fica arrastando o pé, como se estivesse passeando e sentindo a brisa.
— Eles não usam drogas, cara — disse o soldado, testando-o. — Eles não podem tomá-las porque existem uns testes que mostram se eles tão ligadões ou não.
— White Sox não tem nenhuma chance! Sabe como o cara da tevê chama eles? Mangueirinhas! Os mangueirinhas de merda! Como você vai vencer com um nome desses? Já os Tigers, estes sim têm o tipo certo de nome. Os Yankees, os Braves, os...
— Cara, isso é babaquice! — O soldado estava começando a ficar irritado. Ele abaixou a prancheta que estava segurando e caminhou para o fim do balcão.
— E sobre os Dodgers? Eles têm um nomezinho chinfrim e têm um bom time. O nome não quer dizer que o time é uma merda!
— Os Reds — sugeriu Mingolla. Estava se divertindo com a agitação de Gilbey, sua teimosia e irracionalidade. Entretanto também estava preocupado pelo seu subtom de desespero: aparências ao contrário. Gilbey não era o mesmo naquela manhã.
— Oh, sim! — Gilbey esbofeteou a mesa com a mão. — Os Reds! Olha só os Reds, cara! Veja só como eles têm-se dado bem desde que os cubanos entraram na guerra. Você não acha que isto quer dizer alguma coisa? Você não acha que o nome não ajuda eles? Mesmo se comparar os escores de um com o de outro, os mangueirinhas não dão nem pro cheiro contra os Reds. — Ele gargalhou: um resmungo grosseiro. — Sou um fã dos Tigers, cara. Mas acho que este não vai sei o ano deles, cê sabe. Os Reds estão arrasando o NL East, e os Yankees estão chegando e eles vão se encontrar em outubro, cara, então vamos ver quem é o bom, ver quem é o mais foda! — Sua voz tornou-se mais cortada e trêmula. — Logo, não me encha o saco com seus mangueirinhas, cara! Eles não são porra nenhuma e nunca vão ser, e vão continuar sendo uns merdas se não mudarem de nome!
Sentindo perigo, o soldado recuou da confrontação, e Gilbey parou num silêncio suspeito. Por algum tempo permaneceu somente o som das pás dos helicópteros girando e do jazz de coquetel vindo do rádio. Dois mecânicos entraram para sua cerveja matinal, logo após seguidos por três sargentos de aparência paternal, barrigudos, cabelo cortado curto e insígnias do Estado-Maior nos ombros. Sentaram-se a uma mesa próxima e começaram uma partida de canastra. O soldado trouxe-lhes um bule de café e uma garrafa de uísque, que eles misturaram e beberam enquanto jogavam. Seu jogo tinha um jeito de rotina, de alguma coisa feita todo o dia, e observando-os, prestando atenção em sua calma obesa, sua familiaridade de velhos colegas, Mingolla sentiu-se orgulhoso de sua mão paralisada. Era um padecimento honroso, um sinal de que ele tinha participado da guerra no seu âmago, e aqueles homens não. Mesmo assim, não guardou ressentimento. Nenhum. Entretanto isto lhe deu um senso de segurança, de saber que estas três figuras paternais estavam ali para provê-lo de comida, bebida e botas novas. Se ligou no papo monótono, porém feliz, dos jogadores, na névoa provocada pela fumaça dos charutos, que pareciam os exaustores do contentamento deles. Achou que poderia ir até eles, contar seus problemas e receber alguns conselhos simpáticos. Eles estavam ali para assegurar a certeza do seu propósito, para lembrá-lo dos simples valores americanos, para fornecer-lhe a ilusão de envolvimento fraternal com a guerra, para tornar claro que ela era apenas um exercício de boa camaradagem e enrijecimento do caráter, um rito de iniciação pelo qual esses três homens já haviam passado há muito tempo, e que quando tudo terminasse todos poderiam ganhar anéis e medalhas e se encontrar com os amigos e falar sobre o derramamento de sangue e o terror com sacudir de cabeças e nostalgia, como se esse derramamento e terror fossem velhos e perdidos amigos, cujas naturezas eles não tinham realmente apreciado naquela época... Mingolla descobriu então que um sorriso tinha deixado seus músculos faciais retesados, e este trem de pensamento o tinha conduzido para um território mental fantasmagórico. Os tremores em sua mão ficaram piores do que nunca. Checou seu relógio. Quase dez horas. Dez horas!
Em pânico, ele arrastou a cadeira para trás e se levantou.
— Temos de procurar por ele. — disse a Gilbey.
Gilbey começou a falar alguma coisa, mas segurou para si mesmo. Bateu com força a colher na beirada da mesa. Então ele, também, arrastou a cadeira para trás e se levantou.
Baylor não foi encontrado nem no Club Demônio nem em qualquer dos bares da margem oeste. Gilbey e Mingolla descreveram-no a todos que puderam encontrar, mas ninguém se lembrava dele. Quanto mais longe a busca ia, mais inseguro Mingolla se tornava. Baylor era necessário, um dos pilares de sustentação da plataforma de hábitos e rotinas que o sustentava, que o permitia viver além do alcance das armas de guerra e as leis do acaso, e se este pilar fosse destruído... em sua mente viu a plataforma tombando, ele e Gilbey tentando alcançar a parte de cima e escorregando rumo a um abismo cheio de chamas negras. Uma hora Gilbey disse:
— Panamá! O filho da puta se mandou para o Panamá.
Mas Mingolla não pensou que este fosse o caso. Estava certo de que Baylor estava perto, ao alcance da mão. Sua certeza tinha uma tal clarividência que ele se tornou ainda mais inseguro, sabendo que este tipo de clarividência geralmente precedia uma má conclusão.
O sol estava a pino, seu calor sendo um enorme peso premindo tudo para baixo, sua luz lavando a cor das paredes de estuque, e o suor de Mingolla começando a ficar rançoso. Havia somente alguns soldados nas ruas, misturados com a companhia usual de moleques e mendigos, e os bares estavam vazios, exceto por alguns pequenos grupos de bêbados ainda curtindo o porre da noite passada. Gilbey, perplexo, agarrava pessoas pelo colarinho e fazia suas perguntas. Mingolla, porém, consciente do tremor de sua mão, nervoso ao ponto de gaguejar, era forçado a efetuar uma aproximação adequada, pela qual pudesse continuar com suas breves entrevistas. Teria de pisar duro, manter seu lado direitista à mostra e dizer: “Estou procurando um amigo meu. Você o viu? É um cara alto. Moreno. Cabelo preto. Magro. Atende pelo nome de Baylor.” Tornou-se capaz de deixar tudo isto escorregar pela sua língua afora de maneira natural.
Finalmente Gilbey achou que bastava.
— Vou dar uma trepada com a Peitos Grandes. Encontro com você no PC amanhã. — Começou a caminhar para longe, mas voltou-se e acrescentou: — Você vai estar em forma antes de amanhã. Estarei no Club Demônio. — Tinha uma estranha expressão no rosto. Era como se ele tentasse sorrir para transmitir confiança... mas devido à sua falta de prática com sorrisos, pareceu forçado, tolo, e não transmitiu nenhum vestígio de confiança. Por volta das onze horas Mingolla foi alvejado, apoiando-se contra uma parede de estuque rosa, procurando por Baylor nas multidões densas. Ao lado dele, as folhas curtidas pelo sol de uma bananeira dançavam ao vento, fazendo um ruído crepitante toda vez que uma rajada de vento as atirava contra a parede. O teto do bar do outro lado da rua estava sendo consertado: telhas de zinco novas se alternavam com estreitas faixas de ferrugem, que pareciam muito com enormes fatias de bacon prontas para serem fritas. Volta e meia ele deixava seu olhar se transportar para a ponte não terminada, uma ampla curva de mágica brancura projetando-se no azul, erguendo-se por sobre a cidade e a selva e a guerra. Nem mesmo a neblina quente ondulando no teto de zinco poderia torcer sua suavidade. Parecia orquestrar o fedor, o murmúrio da multidão e a música das vitrolas automáticas numa tranqüila unidade, observando aquelas energias e as devolvendo purificadas, enriquecidas. Pensou que se ficasse parado e olhando para ela por um bom tempo, ela falaria com ele, pronunciaria uma palavra mágica que poderia garantir seus desejos.
Dois estalidos secos — tiros de pistola — fizeram-no tombar contra a parede, o coração disparando. Dentro de sua cabeça os tiros pronunciaram as duas sílabas do nome de Baylor. Todos os moleques e mendigos desapareceram. Todos os soldados pararam e voltaram-se para a direção de onde os tiros vieram: zumbis que ouviram a voz de seu mestre.
Outro tiro.
Alguns soldados correram em círculo numa rua larga, falando excitadamente.
— ...Mas são doidos! — disse um deles.
— Foi um Sammy, cara! Você viu os olhos dele? — comentou seu companheiro.
Mingolla deixou-se empurrar pela multidão até ser espirrado da rua. No fim do quarteirão um cordão de PMs havia fechado a via da direita, e quando Mingolla correu, um deles ordenou para que voltasse.
— O que é? — perguntou Mingolla. — Algum cara brincando de Sammy?
— Dá o fora.
— Ouça. Pode ter sido um amigo meu. Alto, magricela.
Cabelo preto. Talvez eu consiga falar com ele.
O PM trocou olhares com seus colegas, que deram de ombros e agiram despreocupadamente.
— Tá legal — concordou. Puxou Mingolla para perto e apontou um bar com paredes turquesa na esquina mais próxima. — Vá lá e fale com o capitão.
Mais dois tiros, e então um terceiro.
— É melhor correr — avisou o PM. — O velho capitão Haynesworth está lá, e não acredita muito em negociações.
Estava frio e escuro dentro do bar. Duas figuras sombrias estavam recortadas contra a parede, ao lado de uma janela que se abria para a encruzilhada. Mingolla pôde perceber o brilho de pistolas automáticas em suas mãos. Então, pela janela, ele viu Baylor saltar de trás de uma mureta: uma estrutura de cerca de um metro de altura de tijolos de barro estendendo-se entre uma loja de produtos da flora medicinal e outro bar. Baylor estava sem camisa, o peito pintado com borrões marrom-avermelhados de sangue já coagulado, e estava parado numa pose tranqüi-la, com os polegares enganchados no bolso das calças. Um dos homens na janela atirou nele. O som foi ensurdecedor, levando Mingolla a crispar as mãos com força e fechar os olhos. Quando olhou pela janela outra vez, Baylor não estava à vista em lugar algum.
— O puto tá só tentando fazer a gente gastar munição — disse o homem que havia atirado em Baylor. — O Sammy tá rápido hoje.
— Sim, mas ele tá acertando alguns — retrucou uma voz preguiçosa, na escuridão do fundo do bar. — Acredito que ele não esteja mais dopado.
— Ei! — interveio Mingolla. — Não o mate! Conheço o cara, posso falar com ele.
— Falar! — indagou a voz indolente. — Tipos como você ficam falando até o cu fazer bico, e o Sammy nem vai ligar.
Mingolla esquadrinhou as sombras. Um sujeito grande e espadaúdo estava apoiado na caixa registradora, uma insígnia metálica brilhando na boina.
— O senhor é o capitão? Disseram-me lá fora para falar com o capitão.
— Sim, sou. E você não sabe como estou deliciado em falar com você, garoto. O que quer?
O outro homem riu.
— Por que o senhor estava tentando matá-lo? — perguntou Mingolla, ouvindo o tom agudo e desesperado de sua própria voz. — O senhor não precisa matá-lo. Poderia usar uma arma tranqüilizante.
— Já tem uma a caminho — disse o capitão. — Acontece que seu amiguinho pegou dois reféns atrás daquele muro, e se tivermos uma chance de acertar ele antes da arma tranqüilizante chegar, vamos até o fim.
— Mas...
— Deixa eu acabar, porra. — O capitão suspendeu seu cinturão, deu a volta e passou o braço sobre o ombro de Mingolla, envolvendo-o numa aura de bodum e bafo de uísque. — Veja. Temos tudo sob controle. O Sammy lá...
— Baylor! Seu nome é Baylor — disse Mingolla, irritado.
O capitão tirou o braço do ombro de Mingolla e olhou para ele com assombro. Mesmo na penumbra, Mingolla pôde ver a rede de capilares rompidos de suas bochechas, a cara inchada de álcool.
— Tá certo — concordou o capitão. — Como eu tava dizendo, seu velho amiguinho Sr. Baylor não estava fazendo nenhum mal. Só bancando o lunático e correndo por aí... então apareceram dois dos nossos irmãos Marines. Parece que eles estavam dando aos nossos amigos comedores de feijão uma demonstração do seu equipamento de combate mais moderno, e eles estavam voltando da dita demonstração quando viram o nosso probleminha e decidiram brincar de heróis. Bem, meu chapa, trocando em miúdos, o Sr. Baylor chutou-lhes o traseiro. Insultou todo seu esprit de corps. Então ele os arrastou pra trás daquele muro e começou a bagunçar tudo com uma das armas que tirou deles. E...
Mais dois tiros.
— Merda! — disse um dos homens na janela.
— E ele tá sentado lá — continuou o capitão. — Fodendo com a gente. Agora, ou a munição do cara acabou ou ele ainda não descobriu como algumas das armas funcionam. Se for o último caso, e ele acabar descobrindo. .. — O capitão sacudiu a cabeça lugubremente, como se visualizasse conseqüências realmente graves. — Viu o apuro em que estou?
— Eu poderia tentar falar com ele. Que mal poderia fazer?
— sugeriu Mingolla.
— Se você quer se matar, o problema é seu, garoto. Mas eu é que vou me foder se a coisa piorar por aqui. — O capitão conduziu Mingolla até a porta, dando-lhe um gentil empurrãozinho até o cordão dos PMs. — Obrigado por ter se prontificado, garoto.
Mais tarde Mingolla teve de refletir se o que ele tinha feito fazia algum sentido, porque — se Baylor sobrevivesse ou não — ele poderia nunca mais ser enviado de volta para Ant Farm. Mas naquela hora, desesperado para preservar o ritual, nada disto ocorreu-lhe. Ele caminhou, dobrou a esquina e foi em direção da mureta. Estava com a boca ressecada, o coração batia forte. Mas o tremor na mão parou, e teve a presença de espírito de caminhar de tal jeito que bloqueasse a linha de fogo dos PMs. Quando chegou cerca de seis metros da mureta, gritou:
— Ei, Baylor! Sou eu, cara. Mingolla!
E como se fosse propelido por uma mola, Baylor saltou, olhando para ele. Estava num estado lastimável. Os olhos pareciam olhos de boi, inteiramente brancos em torno das íris. Gotas de sangue corriam-lhe do nariz e os nervos estavam se retorcendo no seu rosto, com a regularidade de um farol de vigilância. O sangue coagulado no peito vinha de três grandes cortes; estavam parcialmente cicatrizados mas ainda pululava um líquido claro.
Por um momento, ele permaneceu imóvel. Então se abaixou por trás do muro, pegou um rifle de cano duplo, de cuja coronha vinha um longo tubo flexível, levantou-se e apontou a arma para Mingolla.
Apertou o gatilho.
Nenhuma chama, nenhuma explosão. Nem mesmo um clique. Mas Mingolla sentiu que ele estava já mergulhado em águas muito geladas.
— Por Deus, Baylor! Sou eu!
Baylor apertou o gatilho novamente, com o mesmo resultado. Uma expressão de intensa frustração se espraiou pelo seu rosto, fixando-se num olhar de morto. Olhou diretamente para o sol, e após alguns segundos sorriu: devia ter recebido notícias tremendas lá do alto.
Os sentidos de Mingolla haviam-se tornado maravilhosamente afiados. Em algum lugar lá longe, um rádio estava tocando uma música country, e com seus lamentos, com suas intermitentes explosões de estática, parecia-lhe o gemido de um sistema nervoso já nas últimas. Podia ouvir os PMs conversando no bar, podia cheirar o suor acre da loucura de Baylor, e julgou poder sentir a pulsação da sua raiva, um inconstante fluxo de calor turbilhonando à sua volta, intensificando seu medo, fazendo-o criar raízes no local. Baylor abaixou a arma, deitou-a no chão com a ternura que poderia ter mostrado para uma criancinha doente, e pulou para fora da mureta. A fluidez animal do movimento fez a pele de Mingolla se arrepiar. Conseguiu recuar de mansinho um passo e erguer as mãos para manter Baylor a distância.
— Vamo lá, cara — disse, debilmente.
Baylor deixou sair um ruído — parte silvo, parte choro —, e um fio de saliva escorreu por entre seus lábios. O sol era um chuveiro dourado que banhava a rua, bondosamente espargindo e brilhando em cada superfície brilhante, como se estivesse trazendo a realidade ao ponto de ebulição.
— Se abaixa aí, garoto! — gritou alguém.
Então Baylor voou em cima de Mingolla, e dois caíram juntos, rolando na sujeira. Dedos se enterraram profundamente no seu pomo-de-adão. Contorceu-se para longe e viu Baylor rindo, olhos arregalados e dentes amarelados. Faixas de baba gotejavam-lhe do queixo. Uma máscara de Dia das Bruxas. Os joelhos imobilizaram os ombros de Mingolla, mãos agarraram-lhe os cabelos e pressionaram sua cabeça contra o chão. De novo, e de novo. Ele libertou um braço num arranco e tentou enfiar os dedos nos olhos de Baylor, mas ele mordeu-lhe o polegar, bem na junta. A visão de Mingolla ficou nublada, e não pôde ouvir mais mais nada. A parte de trás de sua cabeça parecia mole. Parecia quicar muito lentamente na sujeira, para cima e para baixo após cada impacto. Emoldurada pelo céu azul, a cara de Baylor parecia retroceder, espiralar. E então, quando Mingolla começou a desmaiar, Baylor desapareceu.
Havia poeira na boca de Mingolla e no nariz. Ele ouviu gritos, resmungos. Ainda tonto, ergueu-se sobre um cotovelo. Um pouco adiante, braços, pernas e bundas caqui estavam sendo atirados para fora da nuvem de poeira, como uma briga de história em quadrinhos. Só faltavam os asteriscos e pontos de exclamação por cima de tudo para significar os palavrões. Alguém agarrou-lhe o braço, arrastando-o dali. Foi o capitão da PM, com sua cara inchada avermelhada. Fez cara feia enquanto limpava a poeira das roupas de Mingolla.
— Foi corajoso pra cacete, garoto. E muito, muito burro.
Ele não tinha sequer perdido o fôlego, e você já estava vendo estrelas. — Virou-se para um sargento que estava parado ali perto.
— Diz pra ele o quanto sua tentativa foi estúpida, Phil.
O sargento disse que ele havia sido vencido.
— Bem. Acho que se o garoto esteve em combate, deve ganhar uma medalha: a Estrela de Bronze da estupidez — disse o capitão.
O que, acrescentou o sargento, seria ainda mais estúpido.
— Porque aqui em “Frisco” — o capitão deu uma escova-dela final em Mingolla — eles não dão medalinhas de merda pra você. Os PMs estavam amontoados em cima de Baylor, que estava bem ao lado. A boca e o nariz escorriam. Sangue grosso estava decalcado em seu rosto.
— Panamá — disse Mingolla com voz arrastada. Talvez esta fosse uma opção. Ele até viu como poderia ser... noites na praia, sombras de palmeiras enlaçadas na areia branca.
— O que disse? — perguntou o capitão.
— Ele queria ir para o Panamá — respondeu Mingolla. O capitão bufou com assombro:
— Não é o que todo mundo quer?
Um dos PMs rolou Baylor sob seu estômago e o algemou.
Outro algemou-lhe os pés. Então rolaram-no novamente. Poeira amarela havia-se misturado com o sangue em suas bochechas e testa, pintando nele uma máscara borrada. Seus olhos abriram num estalo no meio daquela máscara, abrindo ainda mais quando ele sentiu as algemas. Começou a quicar para cima e para baixo, tentando descobrir um caminho para a sua liberdade. Ficou corcoveando por quase um minuto. Então se tornou rígido e — com os olhos fixos no disco fundido do sol — rugiu. Não havia uma única palavra, não era um grito ou um chamado, mas um rugido exultante e demoníaco, tão alto e cheio de fúria que parecia ser gerado por toda aquela luz brilhante e calor. Ouvi-lo tinha um efeito sedutor, e Mingolla começou a acompanhá-lo, sentindo-o em seu corpo como uma boa canção de rock’n’roll, e começou a simpatizar com seu exuberante ódio à vida.
— Uau! — exclamou o capitão, maravilhado. — Será preciso construir um zoológico inteiramente novo pra este cara.
Após prestar depoimento, deixando um enfermeiro examinar-lhe a cabeça, Mingolla pegou a barca para se encontrar com Débora, na margem leste. Sentou-se na popa, olhando para a ponte inacabada, desta vez incapaz de depreender dela qualquer sentido de esperança ou mágica. O Panamá continuava a brotar em seus pensamentos. Agora que Baylor se foi, era realmente esta uma opção? Sabia que poderia tentar vislumbrar como as coisas se sairiam, planejar o que fazer, mas não podia deixar de ver a cara demente e sangrenta de Baylor. Por Deus, já havia visto coisas piores, bem piores. Corpos reduzidos a pedaços espalhados, tão pequenos que dificilmente poderiam necessitar de um brilhante caixão prateado, bastando uma lata de metal negra, do tamanho de um pote de biscoitos. Outros corpos queimados e sem os olhos e cobertos de sangue, arrastando-se como criaturas de algum filme de monstros. Mas a idéia de Baylor preso para sempre em algum lugar bruto e vermelho dentro de seu cérebro, no coração daquele ruído bruto e vermelho que ele fez, talvez esta idéia fosse pior do que tudo que Mingolla já havia visto antes. Ele não queria morrer. Rejeitava a probabilidade com apaixonada teimosia típica de uma criança confrontada com a dura realidade. Entretanto seria melhor morrer do que suportar a loucura. Comparado com o que Baylor tinha guardado dentro de si, a morte e o Panamá pareciam oferecer a mesma doçura pacífica.
Alguém se sentou ao lado de Mingolla: um garoto que não teria mais do que 18 anos. Um garoto novo com um corte de cabelo novo, novas botas, novo equipamento. Até o rosto parecia novo, fresquinho como se tivesse acabado de sair do forno. Bochechas fofas e brilhantes. Pele clara. Olhos azuis incrivelmente brilhantes. Estava ansioso para falar. Perguntou a Mingolla o seu nome, pediu que falasse sobre sua família, seu lar, e disse: “Oh, uau, deve ser o máximo viver em Nova York, uau.” Mas ele aparentemente tinha alguma outra razão para puxar conversa, alguma coisa que ele estava segurando e que finalmente deixou à mostra.
— Você conhece o Sammy que virou bicho lá trás? Eu o vi num buraco noite passada. Um lugarzinho na selva a oeste da base. Um cara chamado Chaco é o dono dele. Cara, não é incrível?
Mingolla já ouvira falar da história do buraco de terceira ou de quarta mão, mas o que ouvira era mau, e era difícil de acreditar que este garoto com cara de inocência caseira pudesse ser um aficcionado de algo tão vil. Apesar do que ele havia acabado de testemunhar, era ainda mais difícil crer que Baylor pudesse ter sido o protagonista.
O garoto não precisava de incentivo para falar.
— Foi muito cedo. Já tinha havido dois combates, nada de especial, e então o cara começou a andar por lá realmente lelé. Soube que era um Sammy pelo jeito que ele olhou pro buraco, cê sabe, como se desejasse alguma coisa. E então um amigo meu me deu um empurrão e disse: “Puta merda! É o Cavaleiro Negro, cara! Eu o vi lutar lá em Reunião. Bota seu dinheiro nele”, ele disse. “O cara é um verdadeiro ás.”
Seu último R&R havia sido em Reunião. Mingolla tentou pensar numa pergunta, mas não encontrou uma cuja resposta pudesse ter qualquer significado.
— Bem — disse o garoto —, fazia tempo que eu não ia lá, mas já tinha ouvido falar do tal Cavaleiro. Segui esse caminho e fiquei do lado dele, pensando que talvez eu pudesse fisgar uma linha de como ele estava se sentindo, cê sabe, porque não se pode saber isso só apostando na reputação do cara. Chaco subiu rapidinho e perguntou ao Cavaleiro se ele queria alguma ação. O Cavaleiro disse: “Sim, mas eu quero enfrentar um bicho. Algo bem feroz, cara. Quero enfrentar algo bem brabo.” Chaco disse que tinha alguns macacos e outras merdas, e o Cavaleiro disse ter ouvido falar que Chaco possuía um jaguar. Chaco ficou hesitante, dizendo talvez sim, talvez não, mas isto não importa porque um jaguar é muito forte para um Sammy. E então o Cavaleiro diz a Chaco quem ele realmente é. Vou te dizer, toda a atitude de Chaco mudou. Ele pôde ver como as apostas subiriam com algo parecido com “O Cavaleiro Negro versus O Jaguar”. E ele disse: “Sim senhor, Dom Cavaleiro Negro! O que quiser!” “E então fez o anúncio. Cara, o lugar inteiro enlouqueceu. Pessoas agitavam dinheiro, gritavam apostas, bebiam rápido para que pudessem ficar ligadas na hora do evento principal, e o Cavaleiro só ficou lá, rindo, como se estivesse se alimentando de toda aquela confusão. Então Chaco soltou o jaguar por um túnel, até o buraco. Não era um jaguar crescido, talvez só até a metade, mas com tudo isso você pode imaginar a barra que o Cavaleiro teria que enfrentar. — O garoto fez uma pausa para tomar fôlego. Seus olhos pareciam estar mais brilhantes. — O jaguar serpenteou, dando voltas, mantendo-se próximo das paredes do buraco, rosnando e cuspindo, e o Cavaleiro o observava de cima, checando seus movimentos, cê sabe. E todo mundo começou a fazer coro: “Sam-mee, Sam-mee, Sam-mee”, e após o coro ter ficado mais alto o Cavaleiro sacou três ampolas do bolso. É isso aí, cara! Três! Eu nunca havia estado perto de um Sammy que tivesse tomado mais de duas de uma só vez. Três enviam você direto pro céu! Logo, quando o Cavaleiro ergueu as três ampolas, a multidão veio abaixo, gritando como se eles é que estivessem prontos pra bancar o Sammy. Mas o Cavaleiro, cara, ele manteve a pose calma. Ele é muito calmo. Ele só ficou segurando as ampolas e as fez brilhar ao sol, encharcando-as com ruído e energia, ganhando força com o sumo ejetado pela multidão. Chaco acenou pra que todo mundo ficasse quieto e fez um discurso, cê sabe, sobre como dentro do coração de cada homem existe a alma de um guerreiro pronta para ser liberada e toda esta merda. Vou te dizer, cara: sempre achei que discursos não passavam de montes de excrementos, mas aquele me pareceu mil por cento legal. O puto é realmente calmo, cara! Ele tirou a camisa e os sapatos, e amarrou seu pedaço de seda negra em volta do braço. Então tomou uma ampola depois da outra, realmente rápido e sem perder o fôlego. Ainda posso ver a droga fazendo efeito, tacando fogo nos olhos. Jogando ele pra cima. E logo depois de ter tomado a última, saltou no buraco. Ele não usou o túnel, cara! Ele saltou lá dentro! Sete metros de profundidade até a areia, e aterrissou agachado.
Três outros soldados estavam recostados, ouvindo, e agora o garoto estava se dirigindo a todos eles, jogando com sua audiência. Estava tão excitado que mal conseguia manter seu discurso coerente, e Mingolla descobriu que, também, estava excitado pela imagem de Baylor agachado na areia. Baylor, que havia chorado após o ataque à base. Baylor, que tinha tanto medo dos guerrilheiros que uma vez mijou nas próprias calças, que corria melhor pra latrina do que pra sua arma.
Baylor, o Cavaleiro Negro.
— O jaguar arranhava o ar, girava, dava patadas, tentando assustar o Cavaleiro. O jaguar sabe que o Cavaleiro é um grande problema. Não é um asno como Chaco, este é um Sammy. O Cavaleiro moveu-se para o centro do buraco, ainda agachado. — O garoto fez a voz ficar mais grave e dramática. — Nada aconteceu naquele instante, exceto essa tensão. As pessoas mal respiravam. O jaguar ameaçou atacar duas vezes, mas o Cavaleiro dançou para o lado, fazendo-o perder o bote, e ninguém ficou ferido, de qualquer maneira. Toda hora que o jaguar saltava, a multidão suspirava e guinchava, não só porque eles temessem ver o Cavaleiro ser rasgado, mas também porque eles viam o quanto ele era rápido. O cara era escorregadio! Irreal. Parecia tão rápido quanto o jaguar. Ficou dançando fora do alcance dele, e não importava quanto o jaguar se torcesse e virasse, não importava se ele vinha direto contra ele por sobre a areia, suas garras não conseguiam alcançar o Cavaleiro. E então, cara... oh, foi tão simples! Mais uma vez o jaguar saltou, e desta vez, em lugar de dançar pra fora do seu alcance, o Cavaleiro caiu de costas, rolou, e quando o jaguar passou sobre ele, ele chutou o bicho com os dois pés. Chutou legal, duro! E esmagou os calcanhares contra o lombo do jaguar. O jaguar foi lançado contra a parede do buraco, vindo abaixo, gritando, com as costelas quebradas. Fratura exposta, cara. Saindo da pele como estacas de tenda. — O garoto limpou a boca com o dorso da mão e piscou os olhos para Mingolla e os outros soldados, para ver se eles estavam acompanhando a história. — Nós távamos gritando, cara. Pulando no topo da parede do buraco. O cara ao meu lado estava gritando tão alto, bem na minha orelha, que eu não conseguia ouvir mais nada. Agora, talvez fosse o ruído, talvez fossem suas costelas... seja como for, o jaguar ficou louco. Fazendo investidas a todo fôlego contra o Cavaleiro, tentando chegar mais perto do Cavaleiro antes de saltar, para que ele não tentasse os mesmos truques. Estava rosnando como uma serra elétrica! O Cavaleiro continuou saltando e se esquivando para longe. Mas então ele escorregou, cara, tentando se agarrar a alguma coisa no ar para se equilibrar, e o jaguar foi pra cima dele, rasgando seu peito. Por um segundo eles valsaram juntos. Então o Cavaleiro arrancou a pata do bicho presa em seu peito, empurrou a cabeça do jaguar pra trás e esmurrou legal o olho da fera. O jaguar fez “plof” na areia, e o Cavaleiro examinou o outro lado do buraco Ele estava checando os cortes em seu peito, com seus sangramentos malignos, quando o jaguar voltou a ficar de pé... e estava ainda mais puto agora. O olho atingido estava tinto de sangue, e seus quartos todos desconjuntados. Como se fosse uma luta de boxe, chamaram o médico. O jaguar achou que ele ja tinha tido o suficiente de toda aquela merda, e estava tentando pular fora do buraco. Saltou exatamente onde eu estava me apoiando, bem na beirada. Veio tão perto que pude até sentir o bafo, pude ver a mim mesmo refletido no seu olho bom. Procurava algo pra se agarrar, querendo pular em cima da multidão. As pessoas entraram em pânico, achando que ele iria realmente fazer isso. Mas antes que ele tivesse a chance, o Cavaleiro agarrou ele pelo rabo e o atirou contra a parede. Justo como se faz pra bater um tapete: era desta maneira que ele tava tratando o jaguar. E o jaguar ficou realmente todo fodido. Estava agonizando, sangue escorrendo por toda a boca, suas presas todas vermelhas. O Cavaleiro começou a fazer gestos de zombaria, agitando os braços, rugindo. Estava brincando com o jaguar. As pessoas não tavam acreditando no que tavam vendo, cara. O Sammy estava chutando o traseiro do jaguar com tanta força que eles começaram a abrir espaço para que ele continuasse a brincar com ele. Se o lugar estava uma loucura, agora estava um verdadeiro zoológico. Lutas no meio da multidão, caras cantando o Hino dos Marines. Um comedor de feijão vesgo começou a tirar a roupa. O jaguar tentou novamente se aproximar do Cavaleiro, mas ele já estava todo fodido. Não conseguia mais se manter de pé. E o Cavaleiro ainda estava grunhindo e fazendo caretas. Um cara atrás de mim estava reclamando alto, clamando que as zombarias do Cavaleiro estavam difamando a pureza do esporte. Mas, porra, eu pude ver que ele estava somente dando um tempo pro jaguar, esperando pelo momento certo, a ação certa. — Olhando para a desembocadura do rio, o garoto assumiu uma atitude pensativa: devia estar pensando em sua namorada.
— Todos nós sabíamos o que estava por vir. Todo mundo ficou realmente quieto. Tão quieto que eu podia ouvir o pé do Cavaleiro se arrastar na areia. Você podia sentir no ar que o jaguar estava se poupando para um último esforço, um realmente grande. Então o Cavaleiro escorregou de novo, só que desta vez de mentira. Eu pude ver aquilo, mas o jaguar não. Quando o Cavaleiro rolou para o lado, o jaguar saltou. Pensei que o Cavaleiro iria cair de costas como na primeira vez, mas ele saltou, também. Os pés primeiro. E ele pegou o jaguar bem embaixo da queixada. Se podia ouvir os ossos se partindo, e o jaguar caiu numa cambalhota. Tentou lutar pra ficar de pé novamente, mas não houve jeito! Estava gemendo baixinho, e se cagou todo na areia. O Cavaleiro caminhou até atrás dele, pegou sua cabeça entre ambas as mãos e deu uma torcida. Crack! — Como que se identificando com o destino do jaguar, o garoto fechou os olhos e suspirou. — Todo mundo estava quieto até eles ouvirem o “Crackl”, então foi infernal. As pessoas começaram a gritar em coro “Sam-mee, Sam-mee, Sam-mee,” e empurravam e se acotovelavam para chegar perto da parede do buraco, para que pudessem ver o Cavaleiro arrancar o coração da fera. Ele alcançou a boca do jaguar, arrancou uma das presas e a atirou pra alguém. Então Chaco veio pelo túnel e entregou a ele uma faca. Justo quando ele estava pronto pra cortar, alguém me derrubou e durante o tempo que levei pra ficar de pé, ele já tinha arrancado o coração e o devorado. E ele ficou lá, com o sangue do jaguar em sua boca e com seu próprio sangue correndo dos cortes em seu peito. Olhava como se estivesse confuso, cê sabe, como: “Agora que a luta acabou o que que eu faço?” Mas então começou a rugir. Era o mesmo som que o jaguar fazia antes de ser ferido. Ferozmente louco. Pronto pra avançar em cima de todo filho da puta de todo o mundo. Cara, e eu perdi! Estava afinado com aquele rugido. Talvez eu estivesse rugindo com ele, talvez todo mundo estivesse. Era assim que eu estava me sentindo, cara. Como estivesse no meio de um rugido que saísse de cada garganta de todo o universo. — O garoto en-volveu Mingolla com um olhar sério. — Muita gente fica dizendo que os buracos são maus, e talvez eles sejam mesmo. Eu não sei. Como alguém pode se achar capaz de falar de bem e de mal aqui? Eles dizem que você pode ir aos buracos umas mil vezes e nunca ver nada parecido com a luta do jaguar contra o Cavaleiro Negro. Não sei nada disso. Mas vou voltar lá, só pro caso de estar com sorte. Cara, o que eu vi era mau, mas tão filhadaputamente mau que era bonito, também.
3
Débora estava esperando no cais, carregando uma cesta de piquenique e vestindo um vestido azul com gola alta e camisa completa: uma roupa de colegial. Mingolla se sentiu à vontade com ela. O jeito com que ela havia arrumado o cabelo, caindo sobre os ombros em grossas e negras madeixas, o fez pensar em fumaça tornada sólida, e seu rosto parecia o mapa de um belo país com lagos negros e planícies ao crepúsculo, um país no qual ele poderia se esconder. Eles passearam ao longo do rio, passando a cidade, chegando a um local onde sumaúmas com folhas verdes e lisas, casca esbranquiçada e raízes como caudas de crocodilo cresciam próximo à costa, e lá eles comeram e conversaram e ouviram o som da água tentando engolir os bancos de barro, o som dos pássaros, os fracos ruídos da base área, que nesta distância soavam como parte da Natureza. A luz do sol fazia a água brilhar, e sempre que algum vento ondulava a superfície, parecia que os reflexos eram uma ascendente crosta de diamantes.
Mingolla imaginou que eles haviam tomado um atalho secreto, virado a esquina do mundo e chegado a uma terra eternamente pacífica. A ilusão de paz era tão profunda que ele começou a ver esperança nela. Talvez, ele pensou, alguma coisa estivesse sendo oferecida aqui. Alguma magia nova. Talvez pudesse ser um sinal.
Sinais estão em todo lugar, se você souber como lê-los. Ele olhou em volta. Grandes troncos erguendo-se do gramado, escuras alamedas de folhas partindo por entre eles... nada, mas que tal aqueles brotos crescendo na beira d’água? Eles fazem sombras com formas de perfeitas flores-de-lis sobre o barro, sombras que não têm muita coisa em comum com a configuração rasgada dos brotos. Possivelmente é um sinal, embora não muito claro.
Enviou seu olhar para os juncos crescendo nos rasos. Juncos amarelos com caules unidos, dobrados como alguém com a mão no quadril e o cotovelo para fora, alguns com montículos de ovos de insetos como sementes de pérolas pendendo das fibras soltas, e outros sarapintados por algas. Isto é como eles parecem naquele preciso momento. Então a visão de Mingolla ondulou, como se toda a realidade houvesse tremido, e os juncos foram transformados em formas rudimentares: varas amarelas espetando o azul plano. No outro lado do rio, a selva era um simples borrão de lápis de cor verde. Uma lancha passando vermelhamente cortou o azul. A ondulação parecia ter empurrado todos os elementos da paisagem uma fração para longe da posição apropriada, revelando todos eles serem tão desprovidos de características como simples bloquinhos de montar. Mingolla deu uma sacudida na cabeça. Nada mudou. Esfregou as sobrancelhas. Nenhum efeito.
Terrificado, cerrou bem apertado os olhos. Sentia-se como a única peça significativa em todo aquele quebra-cabeça de nonsense, vulnerável por causa de sua unicidade. Sua respiração veio rápida, a mão esquerda começou a tremer.
— David! Não quer ouvir? — Débora parecia irritada!
— Ouvir o quê? — Ele manteve os olhos fechados.
— O meu sonho. Você não estava prestando atenção?
Ele a espreitou. Tudo havia voltado ao normal. Ela estava sentada com os joelhos dobrados sob o corpo, toda a sua figura em foco.
— Desculpe. Estava pensando.
— Você pareceu assustado.
— Assustado? — Ele fez uma cara de espanto. — Não, só tive um pensamento, é tudo.
— Não parecia ser boa coisa, então.
Ele não deu importância ao comentário e sentou-se com ar esperto para provar a sua atenção.
— Então fale-me do seu sonho.
— Tá legal — disse ela, meio em dúvida. A brisa atirava finas fileiras de cabelo através do rosto, e ela as puxou para trás. — Você estava numa sala da cor de sangue, com cadeiras vermelhas e uma mesa vermelha. Mesmo as pinturas na parede eram feitas em tons e sombras de vermelho, e... — ela parou, olhando para ele. — Você quer ouvir isto? Você ficou com aquele olhar de novo.
— Certamente — anuiu ele.
Mas estava temeroso. Como ela poderia saber da sala vermelha? Ela deve ter tido uma visão dela, e... então Mingolla raciocinou que ela poderia não estar falando da mesma sala. Havia contado a ela sobre o ataque, não havia? E se ela tinha contatos com a guerrilha, deveria saber que as luzes de emergência foram ligadas durante o ataque. Tinha que ser isso! Ela estava tentando assustá-lo e levá-lo à deserção de novo, envolvendo-o psiquicamente da mesma maneira que os pregadores jogam com os medos dos pecadores, com imagens de rios de fogo e tortura.
Isso o enfureceu. Que droga, que direito ela tinha de dizer-lhe o que era certo e sábio a fazer? Qualquer que seja sua ação, tem que ser a sua decisão
— Havia três portas na sala — continuou ela. — Você quer deixar a sala, mas não pode dizer quais das três portas são seguras. Você tenta a primeira porta, e descobre que é uma porta de mentira, uma fachada. A maçaneta da segunda porta gira com facilidade, mas ela não abre, está presa. Melhor do que forçá-la, você vai para a terceira porta. A maçaneta desta é feita de vidro e corta-lhe a mão. Após isto, você fica só andando para a frente e para trás, inseguro do que fazer. — Ela esperou por uma reação, e como ele não se manifestou, ela disse: — Você entendeu? Mingolla ficou em silêncio, guardando para si a raiva.
— Eu interpretarei para você.
— Não se incomode.
— A sala vermelha é a guerra, e a porta falsa é o caminho a que leva sua magia inf...
— Pare! — Ele agarrou-lhe o pulso, apertando-o com rudeza. Débora ficou olhando para ele até que a soltasse.
— Sua magia infantil — terminou ela.
— O que há com você? Tem alguma cota para preencher? Cinco desertores por mês, e você ganha uma medalha?
Ela puxou a saia para baixo, para cobrir os joelhos, brincando com um fio de linha solto. Do jeito que estava agindo, se poderia pensar que perguntou algo a si mesma e estava preparando uma resposta que não deveria ser indelicada. Finalmente, ela disse:
— Isso é o que você acredita que eu seja?
— Não é isso mesmo? Por que outro motivo você está tentando me empurrar toda essa babaquice?
— Qual é a sua, David? — Ela pendeu para a frente, cobrindo o rosto com as mãos. — Por quê...
Ele empurrou-lhe as mãos para longe.
— Qual é a minha? Isso.. — seu gesto incluiu o céu, o rio, as árvores — ...é que é importante para mim. Você me lembra meus pais. Sempre fazendo as mesmas perguntas idiotas. — De repente, quis feri-la com respostas, queria encontrar uma que fosse como ácido, para atirá-la em sua cara e vê-la acabar com sua tranqüilidade. — Sabe o que faço com meus pais, quando eles fazem perguntas imbecis como a sua? Conto pra eles uma história. Uma história de guerra. Cê quer ouvir uma história de guerra? O que ocorreu há poucos dias servirá muito bem como resposta.
— Não precisa me contar nada — disse ela, desencorajada.
— Não esquenta. O prazer vai ser todo meu.
Ant Farm era uma vasta colina da forma do Pão de Açúcar, erguendo-se sobre a densa selva na fronteira oriental da Zona de Fogo Esmeralda. Sobressaindo do seu cimo havia mísseis e posições de artilharia, que a distância pareciam uma coroa de espinhos enfiada sobre um escalpo verde. Por centenas de metros em volta, a terra fora limpa de toda a vegetação. Os grandes canhões tinham sido abaixados à máxima declinação e num momento de loucura haviam devastado grandes porções da selva, arrancando fora regimentos de maciços troncos de árvores, deixando um fosso de tocos enegrecidos e sujeira vermelha queimada, com veios e fissuras. Emaranhados de arame farpado haviam substituído as árvores e arbustos, formando sebes azul-metálicas surrealistas, e enterrados sob o arame farpado estavam uma grande variedade de minas e dispositivos de detecção. Estes tinham pouca utilidade, porque os cubanos e as tropas da guerrilha possuíam tecnologia capaz de neutralizar a maioria deles. Em noites claras havia poucos problemas, mas nas noites enevoadas problemas eram sempre esperados. Sob a cobertura da bruma, os cubanos e os guerrilheiros poderiam passar pelo arame farpado e tentar se infiltrar nos túneis que formam uma verdadeira colméia no interior da colina. Ocasionalmente uma das minas podia ser ativada, e então se veria uma fantasmagórica bola de fogo florescer numa brancura turbilhonante, com pequenas figuras escuras negras sendo projetadas para fora do seu centro. Ultimamente algumas destas vítimas estavam usando boinas vermelhas e símbolos metálicos com formato de escorpião, e disto se deduziu que os cubanos haviam enviado sua Divisão Alacran, que fora o instrumento perfeito para expulsar as forças americanas em Miskitia.
Havia nove níveis de túneis dentro da colina, a maioria ligada a pequenas salas circulares, que serviam como dormitórios (a única exceção sendo o nível mais profundo, que estava reservado aos centros de computação e aos escritórios). Todas as salas e túneis estavam revestidos com um plástico branco em forma de bolhas, que parecia espuma sólida e era resistente contra explosivos antipessoal. No quarto de Mingolla, onde ele, Baylor e Gilbey se refugiavam, um abajur de papel escarlate fora colocado sobre a lâmpada pendente no teto, fazendo-os imaginar que estavam habitando o interior de uma célula sangüínea: Baylor havia insistido em instalar o abajur, alegando que a lâmpada pura era muito brilhante e feria-lhe os olhos. Três camas estavam arranjadas contra as paredes, tão apartadas quanto seria possível. O chão em volta da cama de Baylor estava coberto com guimbas de cigarro e lenços Kleenex usados. Debaixo do travesseiro ele guardava uma caixinha contendo comprimidos e maconha. Toda vez que ele acendia uma trouxinha, sempre oferecia a Mingolla um tapinha, e Mingolla sempre recusava, sentindo que a experiência na base não deveria ser realçada por meio de drogas. Sobre a parede acima da cama de Gilbey havia uma colagem de pôsteres de xoxotas, e todo dia após o turno de serviço, com Mingolla e Baylor no quarto ou não, ele se deitava e se masturbava. Sua falta de vergonha deixava Mingolla embaraçado com sua própria privacidade no ato, e também pelo tipo de objetos-de-garotão presos sobre sua cama: uma flâmula dos Yankees, um retrato de sua antiga namorada, outra do seu antigo time de beisebol no ginásio, diversos desenhos da selva circundante. Gilbey irritava-o constantemente falando de seus pôsteres, chamando-o de “menino bom vizinho”, o que atingia Mingolla como algo estranho, pois ele sempre teve fama de ex-cêntrico no seu lugar de origem.
Quando Mingolla estava se dirigindo para esse quarto o ataque começou. Grandes elevadores de carga, capazes de transportar até sessenta homens, subiam e desciam atrás das vertentes leste e oeste da colina, mas para realizar o acesso fácil entre os níveis adjacentes, e para servir de saída de emergência em caso de falha de força, um túnel auxiliar na forma de um saca-rolha corria pelo centro da colina, espiralando-se como um intestino delgado. Mas dava para a passagem dos carros elétricos que viajavam no seu interior, transportando oficiais e visitas importantes. Mingolla tinha o hábito de usar o túnel para exercícios. Toda noite ele vestia o traje de ginástica e corria para cima e para baixo todos os nove níveis, fazendo isto na convicção de que cansaço físico prevenia pesadelos. Naquela noite, quando passou pelo nível quatro em sua carreira final, ouviu um ribombar: uma explosão, não muito longe dali. Alarmes soaram, os grandes canhões no topo da colina começaram a trovejar. Diretamente acima dele ecoaram sons de gritos e disparos de armas automáticas. As luzes do túnel piscaram, apagaram, e as luzes de emergência foram ativadas.
Mingolla se encostou contra a parede. A fraca luz vermelha fazia as bolhas do revestimento do túnel parecerem tão lisas como uma câmara dentro de uma concha marinha, e esta semelhança intensificou seu senso de impotência, fazendo-o sentir-se como uma criança presa num maligno palácio submarino. Não podia pensar claramente, visualizando o caos em sua volta. Clarões nos canos das armas, exércitos de homens-formigas vasculhando os túneis, gritos espargindo sangue e os canhões dando seus coices, cada bala chamejando quilômetros de céu. Ele poderia ter subido mais, sair, a céu aberto, onde poderia ter a chance de se esconder na selva. Mas descer era sua única esperança. Empurrando-se para longe da parede, ele correu desesperado, agitando os braços, escorregando nas curvas, quase caindo, passando o nível quatro, nível cinco. Então, na metade do caminho entre os níveis cinco e seis, quase passou por cima de um homem morto: um americano, que jazia no chão todo dobrado em torno da barriga ferida, uma poça de sangue espalhando-se debaixo dele e uma faca de campanha na mão. Quando Mingolla parou para pegar a faca, não pensou nem um pouco no homem, só em como era esquisito um americano se defender contra cubanos com tal arma. Não adiantaria, pensou, continuar em frente. Quem quer que tivesse matado o homem estaria em algum lugar lá embaixo, e talvez fosse mais seguro esconder-se em uma das câmaras do nível cinco. Erguendo a faca na sua frente, moveu-se cuidadosamente de volta para cima.
Os níveis de cinco a sete eram território dos oficiais, e mesmo sendo o túnel igual em todas as partes — tubos suavemente curvados de dois metros e quarenta de altura e três e pouco de largura — os aposentos eram maiores e com apenas duas camas cada. Os cômodos que Mingolla examinou estavam vazios, e isto — apesar dos sons da batalha — deu-lhe uma sensação de segurança. Mas quando passou além da curva do túnel, ouviu gritos em espanhol às suas costas. Espiou de volta, atrás da curva. Um soldado negro e magro usando uma boina vermelha e trajes cinzentos avançava passo a passo através do primeiro portão. Então, rifle em posição, entrou agachado num dos cômodos. Dois outros cubanos — homens barbados e magros, cujas peles pareciam amareladas sob a luz cor de sangue — estavam parados debaixo da arcada da entrada do túnel auxiliar. Quando viram o soldado sair, caminharam para fora na direção oposta, provavelmente para checar as salas no outro extremo do túnel.
Mingolla começou a agir numa espécie de pânico iluminado. Percebeu que teria de matar o soldado negro. Matá-lo sem qualquer estardalhaço, tomar-lhe o rifle e esperar que pudesse pegar os outros dois desprevenidos quando voltassem para sua direção. Esgueirou-se para a porta mais próxima e parou de encontro à parede, no lado direito da porta. O cubano, como notara, havia dobrado à esquerda para entrar no aposento. Poderia estar vulnerável para alguém posicionado como Mingolla. Vulnerável por uma fração de segundo. Menos que o tempo para contar “um..!’. A pulsação na têmpora de Mingolla tornou-se agitada, e agarrou a faca firmemente com a mão esquerda. Repassou mentalmente o que deveria fazer. Apunhalar. Botar a mão sobre a boca do cubano. Levar o joelho para cima, para tirar-lhe o rifle E teria de desempenhar estas ações simultaneamente, executá-las com perfeição.
Execução perfeita.
Quase riu alto, lembrando seu velho e barrigudo treinador de beisebol, dizendo: “Execução perfeita, rapazes. Isto é que vale pontos. Esqueçam as firulas. Somente se liguem no lance, fiquem de olho e bola pra frente.”
Correr pelas bases nada mais é do que a própria vida de calção, não é, treinador!
Mingolla inspirou fundo e expirou suavemente pelas narinas. Não podia acreditar que iria morrer. Tinha gasto os nove meses precedentes preocupando-se com a morte, mas quando agora ia de encontro a ela, quando as circunstâncias à sua volta tornaram a morte coisa corriqueira, era difícil levá-la a sério. Não parecia razoável que um neguinho magricela fosse sua nêmesis.
Sua morte deveria envolver massivas detonações de luz, raios Mata-Mingolla especiais, portentos astronômicos. Não um merdinha qualquer com um rifle. Respirou fundo novamente e pela primeira vez registrou o conteúdo daquele quarto. Duas camas dobráveis; roupas espalhadas em todo canto: fotos polaróide e pornografia. Território dos oficiais ou não, era a decoração padrão de Ant Farm; sob a luz vermelha parecia em desordem, como que abandonado há muito tempo. E o quão calmo se sentia. Tá legal, ele tava com medo sim, senhor! Mas o medo estava enfiado dentro das escuras dobras de sua personalidade, como a lâmina de um assassino oculta dentro de um velho casaco num armário trancado. Ameaçadora em seu esconderijo, esperando a chance de brilhar à luz do sol. Cedo ou tarde iria foder com ele, mas por agora o medo era um aliado, agindo para afiar seus sentidos. Podia até ver cada bolha enrugando a parede branca, podia ouvir o arrastar das botas cubanas quando se dirigia de porta em porta, podia sentir como o cubano balançava o rifle da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, parando, voltando...
Podia sentir o cubano! Sentir seu calor, sua forma aquecida, a exata posição de seu corpo. Era uma imagem térmica que havia sido ligada dentro de sua cabeça, que podia funcionar mesmo através das paredes.
O cubano foi para a porta de Mingolla com tranqüilidade, seu progresso tangível, como uma queimadura movendo-se por uma folha de papel. O calor do homem, sua temperatura carnal, estava perturbando-o. Havia imaginado a si mesmo matando com rapidez cinematográfica e sem bagunça. Agora pensava em porcos sendo sangrados e martelos pneumáticos esmagando crânios de bois e vacas. E afinal, poderia ele confiar nesta forma de percepção anormal? O que aconteceria se ele não confiasse? O que aconteceria se ele apunhalasse muito tarde? Muito cedo?
Então a coisa quente, viva, veio até a porta e, sem ter qualquer escolha, Mingolla coordenou seu ataque com os movimentos do outro, enfiando-lhe a faca quando o cubano entrou.
A execução foi perfeita.
A lâmina deslizou por entre as costelas do cubano, e Mingolla cobriu-lhe a boca com a mão, abafando seu grito. Seu joelho pegou na coronha da arma, enviando-a ruidosamente ao chão. O cubano debateu-se selvagemente. Cheirava a cigarro e a plantas da selva apodrecidas. Seus olhos rolaram para trás, tentando ver Mingolla. Olhos de animal louco, pupilas dilatadas.
Gotas de suor brilhavam-lhe avermelhadas na testa. Mingolla torceu a lâmina, e as pálpebras do cubano fecharam-se. Mas um segundo depois elas repentinamente abriram, e ele arremeteu contra Mingolla. Cambalearam unidos até o fundo do quarto e balançaram ao lado de uma das camas. Mingolla agarrou seu flanco e o bateu contra a parede, mantendo-o preso nela. Agonizando, o cubano tentou se libertar. Parecia ficar ainda mais forte. Seus gritos fizeram Mingolla soltar-lhe a boca. A mão passou por trás dele, agarrando a cara de Mingolla, segurando um punhado do seu cabelo e torcendo. Desesperado, Mingolla desceu e subiu a lâmina nele, como se o estivesse serrando. Isto tornou os gritos do cubano mais altos, mais agudos. Retorceu-se e tentou se arrastar para a porta. A mão de Mingolla estava escorregadia com a saliva do cubano, as narinas cheias de seu cheiro rançoso.
Sentou-se enjoado, fraco, e não estava certo por quanto tempo mais teria de continuar com aquilo. O filho da puta não morria, estava tirando energia do aço em suas entranhas, transformado numa força mortal. Mas então, o cubano expirou, relaxou, e Mingolla sentiu um fedor de fezes.
Deixou o cubano cair bruscamente no chão, mas antes que ele livrasse a faca, um tremor percorreu o corpo, fluindo em seu punho e fazendo vibrar sua mão esquerda. O tremor continuou em sua mão, sujo, sensual, como um tremor pós-coito.
Algo, alguma essência animal, algum oleoso resto de uma má vida, havia deslizado pelo local, esguichado para seu pulso. Ficou olhando para a mão, horrorizado. Estava coberta como que por uma luva de sangue do cubano, e tremendo. Esmagou-a contra o quadril, o que pareceu aturdir o que quer que estivesse dentro dela. Mas em segundos o tremor reviveu e estava contorcendo-se para dentro e para fora de seus dedos com a rapidez louca de um girino.
— Teo! — chamou alguém. — Vamos!
Eletrificado pelo grito, Mingolla apressou-se para a porta.
Seu pé empurrou o rifle cubano. Ele o agarrou, e o tremor em sua mão suavizou — ele teve a idéia de que sua mão acalmou-se por ter sentido aquela textura e peso familiares.
— Teo! Donde estás?
Mingolla não tinha muitas opções, mas descobriu que seria muito mais perigoso recuar do que tomar a iniciativa. Ele grunhiu:
— Aqui! — e caminhou para fora, para o túnel, fazendo bastante ruído com os calcanhares.
— Dete prisa, hombre!
Mingolla abriu fogo quando virou a esquina. Os dois cubanos estavam parados na entrada do túnel auxiliar. Seus rifles matraquearam por pouco tempo, enviando uma inofensiva rajada de balas para a parede. Eles rodaram, deixaram cair as armas e foram ao chão. Mingolla estava muito chocado em ver o quanto foi fácil ter-se sentido aliviado. Continuou a vigiar, esperando que fizessem algo. Gemer ou se contorcer.
Após os ecos dos tiros terem desaparecido, embora ainda pudesse ouvir os grandes canhões sacudindo e os estalidos dos incêndios sendo combatidos pelos bombeiros, um pesado silêncio pareceu encher todo o túnel, como se as balas tivessem quebrado algo que tivesse ativado aquele silêncio amaldiçoado.
Ele o fez consciente do seu isolamento. Nenhum indício de onde a batalha fora travada... nem mesmo parecia ter havido alguma.
Era óbvio que pequenas unidades haviam-se infiltrado em todos os níveis, que a batalha de Ant Farm era um microcosmo da batalha da Guatemala: um conflito sem padrões estabelecidos, sem fronteiras, sem confrontações de forma ordeira, mas uma praga que poderia eclodir em qualquer lugar e a qualquer hora e matar a gente. Sendo este o caso, a melhor coisa que poderia fazer seria correr até o Centro de Computação, onde forças amigas estariam certamente concentradas.
Caminhou pelo vestíbulo e parou em frente aos dois cubanos mortos. Eles haviam caído e bloqueado a passagem, e Mingolla estava hesitante em passar por cima deles, com um certo receio de que estivessem fazendo-se de mortos, que pudessem de repente se levantar e agarrá-lo. A estranha posição de seus membros fizeram-no pensar que talvez estivessem com dificuldade de manter aquela pose, só esperando para que ele tentasse passar.
O sangue deles parecia púrpura, sob a luz vermelha das luzes de emergência, mais denso e brilhante do que sangue comum.
Notou seus sinais e cicatrizes e ferimentos, o corte rude de seus trajes, obturações de ouro brilhando em suas bocas abertas. Era engraçado, ele bem podia ter encontrado estes caras enquanto estivessem vivos, e eles só teriam causado uma vaga impressão.
Mas vendo-os mortos, ele catalogou suas dignidades físicas em um simples olhar. Talvez, pensou, a morte revele as nossas essências, de um jeito que a vida é incapaz de fazer. Estudou os mortos, quis lê-los. Uma dupla de caras magros e rijos. Bons sujeitos, para o rum e mulheres e esporte. Adivinhou que fossem jogadores de beisebol, dois bases, uma dupla com jogadas combinadas. Talvez ele devesse tê-los chamado. Ei, sou um fã dos Yankees. Fica frio! Vamos nos encontrar depois da guerra para um joguinho de lançador-apanhador. Foda-se esta matança de merda. Vamos bater uma bolinha.
Riu, e o som alto e estalado de sua risada o acordou. Cristo! Ficar parado aqui é simplesmente pedir por mais. Como que secundando aquela opinião, a coisa dentro de sua mão explodiu para a vida, brincando e se contorcendo como uma enguia. Engolindo seu medo, Mingolla passou por cima dos dois mortos, e desta vez, como havia se agarrado às suas calças, ele se sentiu muito, muito aliviado.
Abaixo do nível seis havia neblina no túnel auxiliar, e então Mingolla compreendeu que os cubanos tinham vindo do flanco da colina, provavelmente por um túnel escavado. Havia chance do túnel que eles fizeram estar por perto, em algum lugar por ali; se ele o encontrasse, poderia dar o fora daquele inferno, dar o fora de Ant Farm e se ocultar na selva. No nível sete a névoa era particularmente espessa, as luzes de emergência só faziam manchas vermelhas pálidas, dando a impressão de algodão cirúrgico tampando uma grande artéria. Marcas enegrecidas e queimadas de explosões de granadas apareciam sobre as paredes como desenhos primitivos, e alguns corpos a mais eram visíveis ao lado das portas. A maioria de americanos, terrivelmente mutilados.
Com dificuldade, Mingolla passou por entre eles, e quando um homem falou às suas costas: “Não se mova”, ele deixou sair um grito grotesco e largou o rifle e girou sobre os calcanhares, o coração batendo forte.
Era um gigante — tinha um metro e noventa, dois metros de altura, com os braços e o torso de um halterofilista — que estava parado numa das portas, apontando uma 45 no peito de Mingolla. Usava traje caqui com insígnias de tenente, e sua cara de bebê, embora vincada numa expressão de preocupação, dava uma impresão de gentileza e inércia: ele evocou em Mingolla a imagem do Touro Ferdinando avaliando um problema cabeludo.
— Falei pra você não se mover — disse ele, irritado.
— Tudo bem — retrucou Mingolla. — Estou do seu lado.
O tenente correu a mão através de seu grosso tufo de cabelo castanho. Parecia estar piscando os olhos mais do que o normal.— Vou checar isso. Vamos descer até o depósito.
— Checar? Checar o quê? — disse Mingolla, sua paranóia aumentando.
— Por favor! — disse o tenente, num genuíno tom de súplica. — Já houve muita violência por aqui.
O depósito era uma longa sala em forma de L, no fim daquele nível. Estava organizada em várias fileiras de engradados, e através da névoa de gaze as luzes de emergência pareciam um colar de agonizantes sóis vermelhos. O tenente fez Mingolla marchar até a esquina do L, e ao virar, Mingolla viu que a parede dos fundos da sala havia desaparecido. Um túnel fora explodido no flanco da colina, abrindo-se na escuridão. Raízes enforquilhadas com bolas de sujeira presas pendiam do teto, dando uma aparência encantada de um túnel para algum mundo de magia negra. Destroços e torrões de terra estavam amontoados na sua borda. Mingolla pôde cheirar a selva, e percebeu que os grandes canhões haviam parado de atirar — isso significava que quem quer que houvesse vencido a luta lá em cima, poderia logo estar enviando para baixo esquadrões de limpeza de área.
— Não podemos ficar aqui — disse ele ao tenente. — Os cubanos voltarão.
— Estamos perfeitamente seguros — retrucou o tenente.
— Dou-lhe a minha palavra. — Ele moveu a arma, indicando que Mingolla podia sentar-se no chão.
Mingolla obedeceu e ficou paralisado pela visão de um cadáver, um cadáver cubano, jazendo entre duas pilhas de engradados do lado oposto a ele, sua cabeça apoiada contra a parede.
— Meu Deus! — exclamou, erguendo-se e ficando de joelhos. — Este não vai morder mais — disse o tenente.
Com a falta de consciência de alguém procurando passar à frente dos outros para arrumar um lugar sentado num trem, ele sentou-se bem do lado do cadáver, os dois quase preenchendo o espaço vazio entre os engradados, tocando cotovelo e ombro.
— Ei — disse Mingolla, sentindo-se tonto e meio deslocado. — Não vou ficar sentado aqui com esse cara morto aí.
O tenente ergueu a arma.
— Vai se acostumar com ele.
Mingolla procurou se recostar numa posição confortável, incapaz de olhar na direção do morto. Este, comparado com os corpos que ele havia acabado de passar por cima, estava apresentável. Os únicos sinais de dano eram o sangue sobre a boca e a barba preta e eriçada, e um buraco feito de sangue e roupa rasgada no meio do peito. Sua boina tinha escorregado e ficado enviesada, cobrindo uma das sobrancelhas. Seu alfinete em forma de escorpião estava riscado e fosco. Os olhos estavam abertos, refletindo pastilhas vermelhas e brilhantes, vindas das luzes de emergência, e isto dava-lhe uma atroz aparência de vida. Mas tais reflexos faziam-no aparecer menos real, mais fácil de suportar.
— Ouça o que vou lhe dizer — disse o tenente.
Mingolla limpou o sangue de sua mão trêmula, esperando que tal limpeza tivesse algum efeito positivo, — Tá escutando?
Mingolla tinha uma particular percepção do tenente e do cadáver como sendo um ventríloquo e seu boneco. Apesar de seus olhos brilhantes, o cadáver era bastante realista, e qualquer truque de luz o faria brilhar por muito tempo. Crescentes exatos apareciam em suas unhas, e como a cabeça estava pendida para a esquerda, o sangue havia-se acumulado todo naquele lado, escurecendo sua bochecha e têmpora, deixando o resto da face pálida. Era o tenente, com seu uniforme caqui limpinho e sapatos engraxados e cabelinho cortado, que parecia menos do que real.
— Ouça — disse o tenente com veemência —, entenda uma coisa: tenho de fazer o que acho certo pra mim! — O bíceps do braço que segurava a arma cresceu até ficar do tamanho de uma bala de canhão.
— Entendi — disse Mingolla, nervoso.
— Entendeu? Entendeu de verdade? — O tenente pareceu insultado pela afirmação de Mingolla. — Duvido. Duvido que você possa entender.
— Talvez eu não possa — disse Mingolla. —- Qualquer coisa que você disser, cara, eu vou apenas tentar acompanhar, cê sabe.
O tenente sentou-se em silêncio, piscando. Então sorriu: — Meu nome é Jay. E você é...
— David. — Mingolla tentou trazer sua concentração para a arma, se perguntando se podia chutá-la para longe, mas o tremor de vida em sua mão o distraiu.
— Onde fica seu alojamento, David?
— Nível três.
— Eu vivo aqui — disse Jay. — Mas vou me mudar. Não suporto ficar num lugar como este... — Ele parou de falar e pendeu para a frente, adotando um ar de conspirador. — Você sabe quanto tempo alguém leva pra morrer, mesmo após seu coração parar?
— Não. Não sei. — A coisa na mão de Mingolla rastejou até seu pulso, e ele o segurou firme, tentando bloqueá-la.
— É verdade — disse Jay. — Nenhuma destas pessoas — ele deu uma cutucada gentil com o cotovelo no cadáver, exprimindo para Mingolla um arrepiante tipo de familiaridade — terminou ainda de morrer. A vida ainda não teve seu interruptor desligado. Vai lentamente. E estas pessoas ainda estão vivas, embora só em meia-vida — ele sorriu. — A meia-vida da vida, pode-se dizer.
Mingolla manteve a pressão no pulso e sorriu, como se estivesse apreciando o jogo de palavras. Pálidos tentáculos vermelhos de névoa rodopiavam por eles.
- É claro que você não tá em sintonia. Por isso que não entendeu. Mas eu estaria perdido se não fosse Eligio.
— E quem é Eligio?
Jay apontou com a cabeça para o cadáver.
— Nós estamos em sintonia, Eligio e eu. Isto é como eu sei que estamos seguros. As percepções de Eligio não são limitadas ao aqui e agora. Ele está com seus homens neste preciso momento, e me contou que todos estão mortos ou agonizando.
— Uh... uh — grunhiu Mingolla, tenso. Tinha conseguido empurrar a coisa na mão de volta até os dedos, e pensou que agora poderia ser capaz de alcançar a arma. Mas Jay atrapalhou seus planos mudando a arma para a outra mão. Seus olhos pareciam ficar mais e mais reflexivos, adquirindo um fulgor vermelho, e Mingolla percebeu que isto era porque ele havia aberto mais os olhos e mirado o olhar diretamente para as luzes de emergência.
— Isto faz alguém pensar. Faz realmente — disse Jay.
— O quê? — indagou Mingolla, indo devagarinho para o lado, encurtando a distância do chute.
— Meias-vidas — disse Jay. — Se a mente tem uma meia-vida, nossas emoções devem ter, também. A meia-vida do amor, do ódio. Talvez elas existam em algum lugar. — Ele ergueu os joelhos, cobrindo a arma. — De qualquer forma, não posso continuar a viver aqui. Acho que vou voltar pra Oakland. — Seu tom de voz tornou-se sussurrante. — De onde você é, David?
— Nova York.
— Não é das minhas favoritas — comentou Jay. — Mas amo a região da baía. Tenho uma loja de antigüidades lá. É bonito de manhã. Pacífico. O sol surge através das janelas, desliza pelo chão, cê sabe, como uma maré subindo por todos os móveis. É como se o verniz original renascesse, toda a loja brilhando em luzes antigas.
— Soa bonito — disse Mingolla, surpreso pelo lirismo de Jay. — Você parece ser uma boa pessoa. — Jay se esticou um pouco. — Mas lamento muito. Eligio me diz que sua mente é muito nebulosa pra ele ler. Ele diz que não posso me arriscar te deixando vivo. Tenho que atirar.
Mingolla sentiu-se saltar, mas então a indiferença derramou-se sobre ele. Porra, afinal isto tinha alguma importância?
Mesmo se ele chutasse a arma pra longe, Jay provavelmente o quebraria em dois.
— Por quê? Por que você tem de fazer isso?
— Você podia informar sobre mim. — A aparência doce de Jay afrouxou-se numa expressão lamentosa. — Contar a eles que eu estava me escondendo.
— Ninguém tá ligando pro fato de você ter-se escondido — disse Mingolla. — Isto é o que eu estava fazendo. E acho que cinqüenta outros caras estão fazendo a mesmíssima coisa.
— Num sei. — As sobrancelhas de Jay arquearam-se. — Vou perguntar de novo. Talvez sua mente esteja menos nublada agora. — Ele virou seu olhar para o morto.
Mingolla notou que as íris do cubano estavam viradas em ângulo para cima e para a esquerda — exatamente o mesmo ângulo que os olhos de Jay tinham assumido pouco antes — e refletiram um idêntico fulgor rubi.
— Lamento — disse Jay, apontando a arma. — Eu tenho que fazê-lo. — Ele mordeu o lábio. — Poderia, por favor, virar um pouco a cabeça? Seria melhor se você não estivesse olhando pra mim quando a coisa acontecer. Esta foi a maneira que eu e Eligio nos tornamos sintonizados.
Olhar para a abertura do cano da arma era como espiar do alto de um pico, sentir o calafrio tentador da queda, e foi mais por contrariedade do que por vontade de sobreviver que Mingolla pregou os olhos em Jay e disse: — Vai em frente.
Jay piscou mas manteve a arma engatilhada.
— Sua mão está tremendo — disse ele, após uma pausa.
— Merda nenhuma.
— Cume que ela começou a tremer?
— Porque eu matei alguém com ela. Porque sou um maluco fodido que nem você.
Jay meditou a respeito.
— Eu pensei que tinha sido designado para uma unidade de gays — disse ele finalmente. — Mas todas as vagas estavam já preenchidas, e quando me designaram pra cá, eles me deram uma droga. Agora eu... eu... — Ele piscou rapidamente, os lábios se separaram, e Mingolla retesou-se em frente a Jay, tentando empurrá-lo para fazê-lo voltar ao equilíbrio, tentando fazer alguma coisa para arrastá-lo para além daquela colina de agonia. — Eu não posso mais... estar com homens — terminou Jay, e mais uma vez piscou rapidamente. Então, suas palavras fluíram com mais facilidade. — Deram droga pra você também? Quero dizer, não que eu esteja sugerindo que você é gay. É que eles dão drogas pra todo mundo atualmente, e pensei que este era o problema.
Mingolla ficou repentinamente triste, indizivelmente triste. Sentiu que suas emoções tinham sido espremidas num fino fio negro, e que aquele fio estava se esfiapando e espalhando fagulhas de tristeza. Era tudo o que havia energizado sua vida — aquelas pequenas centelhas negras.
— Eu sempre lutei — continuou Jay. — E eu estava lutando desta vez. Mas quando acertei o Eligio... não pude mais continuar.
— Eu realmente não estou ligando — disse Mingolla — Não mesmo.
— Talvez eu possa confiar em você. — Jay suspirou. — Eu só queria que você entrasse em sintonia. Eligio tem uma boa alma. Você iria gostar.
Jay continuou falando, enumerando as virtudes de Eligio, e Mingolla se desligou, não querendo mais ouvir sobre o amor que o cubano tinha por sua família, suas preocupações póstumas com ela. Olhando para sua mão ensangüentada, teve uma mágica visão panorâmica sobre toda a situação. Sentado no porão enraizado de sua montanha maligna, banhado em um assustador brilho vermelho, um pedaço da vida do morto preso em sua carne, ouvindo um gigante desorientado que recebe suas ordens de um cadáver, esperando pelos soldados-escorpiões surgirem de um túnel que parecia levar a uma dimensão de bruma e trevas. Era insano olhar para a coisa daquele jeito. Mas era assim mesmo. Não se poderia raciocinar a respeito — possuía um encanto que sobrepujava qualquer razão, que tornava a razão desnecessária.
— ...e quando você se sintonizar — continuou Jay —, você jamais estará separado. Nem mesmo pela morte. Por isso Eligio está sempre vivo dentro de mim. É claro que não posso deixá-lo sair, cê sabe. — Ele riu, um som de dados rolando dentro de um copo. — Seria como dar conforto e ajuda ao inimigo.
Mingolla abaixou a cabeça e fechou os olhos. Talvez Jay atirasse. Mas ele duvidava. Jay só queria companhia para sua loucura.
— Você jura não contar pra eles?
— Sim, eu juro.
— Tá legal. Mas lembre-se: meu futuro está em suas mãos.
Você tem uma responsabilidade comigo.
— Não se preocupe. Ouviu-se um tiroteio ao longe.
— Tô contente que possamos falar. Me sinto melhor — disse Jay.
Mingolla disse que se sentia melhor, também.
Eles ficaram sentados sem falar. Não era a maneira mais segura de se passar a noite, mas Mingolla não tinha mais qualquer ilusão sobre o conceito de segurança. Estava muito fraco para sentir medo. Jay parecia estar em transe, olhando para um ponto acima da cabeça de Mingolla, mas Mingolla não fez qualquer movimento em direção da arma. Estava contente em simplesmente ficar sentado e esperar e deixar o destino tomar seu curso. Seus pensamentos se desenrolavam com lentidão vegetal. Deviam estar sentados há cerca de duas horas quando Mingolla ouviu o sussurro dos helicópteros e notou que a névoa havia-se tornado mais fina e a escuridão no fim do túnel tornara-se cinza.
— Ei — disse a Jay. — Acho que agora estamos bem. — Jay não respondeu, e Mingolla viu que seus olhos estavam virados para cima em ângulo para a esquerda, justamente como os olhos do cubano, brilhando com reflexos vermelhos. Por tentativas, ele finalmente alcançou e tocou a arma. A mão de Jay tombou no chão, mas seus dedos permaneceram agarrados à coronha da arma. Mingolla voltou ao seu lugar, sem poder acreditar. Não podia ser! Novamente ele se aproximou, procurando tomar-lhe o pulso. O pulso de Jay estava frio, parado, e os lábios estavam com uma tonalidade azulada. Mingolla sentiu uma agitação histérica, achando que Jay havia entendido errado aquele negócio de “estar sintonizado”: em vez de Eligio se tornar parte de sua vida, ele havia-se tornado parte da morte de Eligio. Mingolla sentiu um aperto no peito e achou que iria chorar. As lágrimas até que seriam bem-vindas, e como elas não surgiram, começou a ficar tanto aborrecido como na defensiva de si mesmo. Por que chorar? O cara nada significava pera ele... embora o fato de ser tão destituído de compaixão fosse razão suficiente para lágrimas. Mesmo assim, se a gente for chorar por causa de um lugar-comum como um cara agonizando, a gente acaba chorando cada minuto do dia, e que futuro há nisto? Olhou para Jay. Para o cubano. Apesar da suavidade da pele de Jay e da barba eriçada do cubano, Mingolla poderia ter jurado que eles já começavam a ficar parecidos entre si, como acontece com casais juntos por muito tempo. E, assim... os quatro olhos estariam fixados no mesmo ponto para sempre. E era ou uma coincidência dos diabos ou a loucura de Jay era de tal magnitude que ele desejou morrer justo desta maneira, para deixar provas de sua teoria das meias-vidas. E talvez até estivesse ainda vivo. Meio-vivo. Talvez ele e Mingolla agora estivessem em sintonia, e se isso fosse verdade, talvez... revoltado pela perspectiva de se juntar a Jay e ao cubano em sua vigília eterna, Mingolla conseguiu pôr-se de pé e saiu correndo para o túnel. Ele poderia ter continuado a correr, mas, com a chegada da luz da aurora, foi trazido para baixo pela visão da entrada do túnel.
Às suas costas, o domo verde da colina dilatava-se para cima, seus lados brocados com arbustos e vinhas, uma infinidade de padrões tão atraentes à vista como a intricada fachada esculpida de um templo hindu. No topo, uma das posições de artilharia fora atingida: lascas de metal queimado curvavam-se para cima como cascas de crosta negra. Diante dele jaziam as fendas de terra vermelha com suas cercas e sebes de arame farpado, e para além estava o tecido verde e negro da selva. Presas por entre os arames estavam centenas de formas largas usando uniformes ensangüentados. Fiapos de fumaça torciam-se para cima de crateras frescas logo ao lado. Acima de sua cabeça, meio ocultos pela ascendente névoa cinzenta, três Sikorskys faziam a patrulha. Seus pilotos estavam invisíveis atrás de camadas de névoa e de reflexos, e os aparelhos pareciam enormes moscas de matadouro, com olhos bulbosos e asas rodopiantes. Como demônios. Como deuses. Pareciam estar fofocando um com o outro sobre o festim que eles logo compartilhariam.
A cena era horrível, porém tinha a pureza de uma balada vindo à existência, uma balada composta sobre trágicos eventos em alguma fronteira infernal. Era impossível pintá-la, e se alguém tentasse, a tela mesma teria que ser tão grande como o próprio cenário, e seria preciso acrescentar o lento borbulhar da bruma, o rodopio das pás dos helicópteros, a fumaça ascendente. Nenhum detalhe deveria ser omitido. Seria a perfeita ilustração da guerra, de seu secreto e mágico esplendor, e Mingolla, também, era elemento de toda aquela paisagem, um desenho do próprio artista pintado nela de brincadeira ou para dar escala e perspectiva a sua vastidão, sua importância. Sabia que teria de reportar sua posição, mas não poderia dar as costas a este vislumbre do próprio coração da guerra. Sentou-se no sopé da colina. Pousou a mão ferida no colo, e ficou observando como — com a poderosa autopossessão de ídolos flutuando sobre a Terra, enfrentando as correntes cruzadas, o vento de seus des-censos chicoteando fúrias sobre o pó vermelho — os helicópteros faziam hábeis pousos por entre os mortos.
4
A meio caminho de encerrar sua história, Mingolla descobriu que não estava realmente tentando ofender ou chocar Débora — melhor seria dizer que estava se livrando de um pesado fardo. E mais tarde descobriu que falar destas coisas produzia um extenso corte no passado, enfraquecendo as cadeias que o prendiam a ele. Pela primeira vez foi capaz de considerar seriamente a idéia de deserção. Não correu para ela, não a abraçou de imediato, mas reconheceu a sua lógica e compreendeu a terrível ilógica de retornar para mais ataques, mais morte, sem qualquer magia para protegê-lo. Fez um pacto consigo mesmo: continuaria indo adiante como se a deserção fosse seu intento e ver quais signos e sinais que lhe eram oferecidos.
Quando terminou, Débora perguntou-lhe se sua raiva se extinguira ou não. Ele ficou contente por ela não ter tentado oferecer simpatia.
— Sinto muito. Não estava realmente irritado com você...
pelo menos acho que só estava um pouco.
— Está tudo bem. — Ela empurrou para trás a massa negra de seus cabelos, fazendo-os cair por um único lado e olhando para baixo, para a grama ao seu lado. Com a cabeça inclinada, olhos semicerrados, a graciosa linha de sua nuca e queixo, como um personagem de algum roteiro exótico, parecia ser ela mesma um bom sinal. — Não sei o que falar-lhe. As coisas que sinto que devo falar-lhe o deixam possesso, e não posso mais juntar palavras para um bate-papo comum.
— Não quero ser empurrado contra a parede. Mas, acredite-me, estou pensando no que você me disse.
— Não vou empurrá-lo. Mas não sei ainda sobre o que falar. — Ela arrancou uma folha de grama e mordeu a ponta.
Ele observou seus lábios se abrirem de leve, perguntando-se qual seria seu sabor. Uma boca doce no formato de um jarro que tivesse uma vez guardado temperos.
Ela jogou a folha de grama para o lado.
— Já sei — disse ela com brilho. — Gostaria de ver onde eu moro?
— Não preciso voltar tão cedo para “Frisco”. É muito cedo 196
ainda — Onde você mora, ele pensou. Queria tocar o local onde você mora.
— Não fica na cidade. É numa vila descendo o rio.
— Soa bem.
Ele ficou de pé, pegou-lhe o braço e a ajudou a se levantar.
Por um instante, estiveram bem juntos, seus seios roçando-lhe a camisa. Seu calor viajou por ele, e pensou que se alguma pessoa olhasse para os dois, poderia ver duas figuras ondulastes, como uma miragem. Tinha urgência em dizer que a amava, embora a maior parte do que ele sentia fosse formado pela salvação que ela poderia prover. Parte de seus sentimentos pareciam reais e o deixavam confuso, porque tudo que ela representara para ele ocorreu em algumas poucas horas longe da guerra, uma refeição num restaurante barato e um passeio pela margem do rio. Não era base para aquele tipo de emoção. Antes que pudesse dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, ela virou-se e pegou a cesta.
— Não é muito longe — avisou andando na frente. Sua saia azul balançava como um sino badalante.
Os dois percorreram uma trilha de barro marrom, coberta por samambaias, espalhadas em ramos com folhas translúcidas e pálidas, e logo surgiu um grupo de choças na foz de um ribeirão que desembocava no rio. Crianças nuas estavam brincando no ribeirão, rindo e jogando água umas nas outras. Suas peles eram da cor do âmbar, e os olhos eram límpidos e púrpura-escuros como ameixas. Palmas e acácias pendiam de cima das choças, e eram construídas de troncos e ramos unidos por cordas de nylon. Os telhados haviam sido podados para formarem franjas.
Moscas rastejavam sobre tiras de carne penduradas num varal entre choças. Cabeças de peixe e restos de galinha cobriam o solo acre. Porém Mingolla mal notou esses sinais de pobreza, vendo em vez disso um sinal de paz que poderia estar esperando por ele lá no Panamá. E outro signo logo estaria vindo. Débora comprou uma garrafa de rum numa lojinha, levando-o então para a choça mais próxima da desembocadura do ribeirão, e o apresentou a um velho magro de barbas brancas que estava sentado num barco, do lado de fora. Tio Moisés. Após três drinques, tio Moisés começou a contar histórias.
A primeira falava do piloto pessoal de um ex-presidente do Panamá. O presidente tinha amealhado bilhões com o tráfico de cocaína para os Estados Unidos com a ajuda da CIA, a quem prestara ajuda em numerosas ocasiões, e era ele mesmo um viciado já em estado avançado de deterioração mental. Era seu prazer solitário voar de cidade em cidade em seu país, para aterrissar nas pistas de pouso, olhar pela janela e cheirar cocaína. A qualquer hora da noite ou do dia, ele costumava convocar o piloto e ordenar a preparação de um plano de vôo para Colon ou Bocas del Toro ou Penonome. Como o estado do presidente piorava, o piloto percebeu que logo a CIA veria que ele não era mais útil e poderia matá-lo. E a maneira mais óbvia de matá-lo poderia ser com um desastre aéreo. O piloto não queria morrer com ele. Tentou pedir demissão, mas o presidente não permitiu.
Pensou em mutilar-se, mas sendo um bom católico, não poderia infringir as leis de Deus. Se fugisse, sua família poderia sofrer.
Sua vida tornara-se um pesadelo. Era prioritário, em cada vôo, que ele gastasse horas examinando o avião em busca de evidências de sabotagem, e após cada pouso, permanecia na carlinga, tremendo de exaustão nervosa. O presidente piorava cada vez mais. Precisava ser carregado até o avião e ter a cocaína ministrada por um ajudante, com um segundo ajudante pronto com chumaços de algodão para limpar-lhe os corrimentos do nariz.
Sabendo que sua vida poderia ser medida em semanas, o piloto pediu conselho ao padre. “Ore”, foi o conselho que o padre lhe deu. O piloto já estava orando há muito tempo, e isto não estava ajudando. Foi em seguida ver o comandante do seu colégio militar, e o comandante lhe disse que teria de cumprir o dever. Isto, também, era o que o piloto estava sempre fazendo. Finalmente recorreu ao chefe dos índios de San Blas, que eram o povo de sua mãe. O chefe disse que ele deveria aceitar seu destino — que não era algo que ele já estivesse fazendo —, o que dificilmente era encorajador. De qualquer forma, ele viu que o único caminho adequado era aquele, e fez como o chefe havia lhe aconselhado.
Melhor do que gastar horas em exames antes do vôo, ele deveria chegar minutos antes da decolagem e taxiar sem mesmo examinar o marcador de combustível. Sua temeridade tornou-se o assunto de todas as conversas na capital. Obedecendo a cada capricho do presidente, voava através de ventanias e nevoeiros, bêbado e drogado, e durante aquelas horas em pleno ar, suspenso entre as leis da gravidade e o Destino, ele adquiriu uma nova valorização da vida. Uma vez de volta ao chão, engajou-se na vida com avidez feroz, fazendo amor apaixonadamente com a esposa, cantando com os amigos e ficando com eles até o sol raiar. Então um dia, quando estava se preparando para ir ao aeroporto, um americano veio até sua casa e disse que ele havia sido substituído. “Se nós permitirmos que o presidente voe com um piloto tão negligente, seremos acusados por qualquer coisa que aconteça com ele”, disse o americano. O piloto não precisou perguntar o que ele havia querido dizer com “nós”. Seis semanas mais tarde o avião do presidente espatifou-se nas montanhas Darien. O piloto ficou feliz da vida. O Panamá havia se livrado de um vilão, e sua própria vida não fora perdida. Mas uma semana após o desastre, após o novo presidente — outro traficante com conexões com a CIA — ter sido escolhido, o comandante da força aérea convocou o piloto, dizendo que o desastre jamais teria ocorrido se ele ainda estivesse no serviço, e o designou para pilo-tar o avião do novo presidente.
Por toda aquela tarde Mingolla ouviu e bebeu, e o porre colocou-lhe uma lente nos olhos que o levou a ver como aquelas histórias se aplicavam a ele. Eram fábulas sobre a irresolução, o cuidado em agir, e detalhavam os principais problemas das populações da América Central que — como ele agora — estavam presas entre os pólos da magia e da razão, suas vidas governadas pelas políticas do ultra-real, seus espíritos governados por mitos e lendas, com o corpanzil retangular e computadorizado da América do Norte por cima e o mistério, continental em formato de concha que era a América do Sul logo embaixo. Ele deduziu que Débora havia orquestrado os tipos de histórias que tio Moisés contava, o que não anulava seu poder como sinais: tinham o halo da verdade, não de algo feito sob medida para a ocasião.
Não importava que sua mão estivesse tremendo, sua visão pregasse truques. Essas coisas poderiam passar quando chegasse ao Panamá.
Sombras se projetavam, insetos zumbiam como matracas, e o crepúsculo desceu, lavando o céu, fazendo o ar parecer gra-nuloso, o talhe do rio parecer mais lento e mais pesado. A neta do tio Moisés serviu pratos de milho cozido e peixe, e Mingolla comeu até se sentir empanturrado. Após isto, quando o velho demonstrou sua fadiga, Mingolla e Débora passearam ao longo do ribeirão. Entre duas choças, montada em cima de um poste, estava uma placa torcida com uma rede pendurada, e alguns rapazes estavam jogando basquetebol. Mingolla juntou-se a eles.
Era difícil driblar no campo cheio de buracos e ressaltos, mas ele nunca jogou tão bem. O resíduo do porre abastecia seu jogo, e seus lançamentos seguiam arcos perfeitos até a cesta. Mesmo de ângulos improváveis, seus lançamentos acertavam em cheio. Ele esbanjou categoria em bater as mãos para roubar a bola do adversário, em fintas e pulos altos para pegar o rebote, tornando-se — à medida que o crepúsculo se apagava — a mais hábil e destra sombra saltitante naquele grupo de outras dez.
O jogo terminou e as estrelas apareceram, parecendo buracos abertos para um fogo, através de uma ondulante seda negra suspensa sobre as palmeiras. Piscantes postes luminosos iluminavam o chão em frente às choças, e quando Débora e Mingolla caminharam por entre eles, ele ouviu um rádio sintonizado na estação das Forças Armadas, narrando, lance por lance, uma partida de beisebol. Há o estalo seco do rebatedor, a multidão grita e o locutor anuncia: “Ele tá pegando tudo!” Mingolla imaginou a bola desaparecendo na escuridão acima do estádio, saltando numa América-Estacionamento, caindo dentro de um pneu, onde um garoto pudesse encontrá-la e pensar que foi um milagre. Ou rolar pela rua até parar debaixo de um carro velho, escondendo-se, secretamente branca e ainda soltando fumaça da energia do seu arremesso. O placar estava três a um, fim do segundo tempo. Mingolla não sabia quem estava jogando e pouco estava ligando para isso. Arremessos em profundidade estavam acontecendo dentro dele, místicas rebatidas arqueando-se em trajetórias predeterminadas. Estava no cento de forças incalculáveis.
Uma das choças estava com as luzes apagadas, com duas cadeiras de madeira na frente, e quando eles se aproximaram, a visão daquilo amargou o humor de Mingolla. Alguma coisa nela o aborrecia: seu ar intencional, de ser um pequeno cenário armado. É só paranóia, pensou. Os sinais tinham sido pra lá de bons, não tinham? Quando chegaram à choça, Débora sentou-se na cadeira mais próxima da porta e olhou para ele. A luz das estrelas pontilhava seu olhar com brilho. Atrás dela, através da porta aberta, notou o sombrio casulo de uma rede, e atrás dele, um saco de onde parte de uma gaiola de arame projetava-se para fora. — Qual é a jogada, Débora?
— Pensei que fosse mais importante estar com você.
Isto, também, o aborreceu. Tudo estava começando a aborrecê-lo, e ele não conseguia entender por quê. A coisa em sua mão agitou-se. Comprimiu-a num punho fechado e sentou-se ao lado de Débora.
— O que está acontecendo entre nós? — perguntou, nervoso. — Alguma coisa vai acontecer? Eu acho que vai, mas...
— Limpou o suor da testa e esqueceu aonde estava querendo chegar com aquela conversa.
— Não sei o que você está querendo dizer.
Uma sombra moveu-se através do brilho amarelo que se derramava da choça ao lado. Crispando, ondulando. Mingolla fechou rapidamente os olhos.
— Se você quer dizer... romantismo, bem: estou confusa comigo mesma. Retornando à sua base ou indo para o Panamá, parece que nós dois não temos muito futuro juntos. E certamente não temos também muito passado.
Aquilo disparou sua confiança nela, na situação: Débora não tinha uma resposta segura. Mas ele sentiu-se abalado. Muito abalado. Torceu a cabeça, enfrentando mais ondulações.
— Como é o Panamá?
— Nunca estive lá. Provavelmente se parece um pouco com a Guatemala, exceto que lá não tem luta.
Talvez devesse se levantar, andar por aí. Talvez isso pudesse ajudar um pouco. Ou talvez devesse apenas continuar sentado e falar. Falar parecia acalmá-lo.
— Eu aposto que deve ser um lugar bonito, cê sabe. Panamá. Montanhas verdes, cachoeiras na selva. Aposto que tem um montão de pássaros. Macacos e papagaios. Milhões deles.
— Também acho.
— E beija-flores. Um amigo meu esteve lá uma vez numa expedição para encontrar beija-flores, e disse que tem um milhão de espécies. Pensei que ele fosse algum tipo de babaca, cê sabe, por colecionar espécies de beija-flores. — Ele abriu os olhos e teve que fechá-los de novo. — Pensei na época que colecionar beija-flores não era coisa relevante, comparado com as coisas realmente grandes.
— David? — Havia preocupação em sua voz.
— Tô legal. — O odor do perfume dela estava mais penetrante do que jamais sentira antes. — Você deve ir pra lá de barco, certo? Deve ser um barco dos grandes. Um navio. Nunca vi um navio de verdade, só aquele barquinho a remo que meu tio tinha. Ele costumava me levar pra pescar lá em Coney Island.
Nós nos amarrávamos numa bóia e pegávamos todo aquele peixe venenoso. Você devia ter visto alguns deles. Pareciam mutantes. Olhos com as cores do arco-íris, protuberâncias esquisitas em todos eles. Me assustava um bocado pensar em comer tais peixes.— Eu tive um tio que...
— Eu costumava pensar sobre aqueles que deveriam estar muito no fundo para serem pegos. Baiacus, tubarões inteligentes, baleias com mãos. Eu os via engolindo o barquinho, eu...
— Calma, David. — Ela deu-lhe um beliscão na nuca, enviando um calafrio por toda sua espinha.
— Tô legal, tô legal. — Ele empurrou a mão dela pra longe; não precisava de mais tremores do que já possuía. — Fala alguma coisa mais sobre o Panamá.
— Já disse a você. Nunca estive lá.
— Oh, sim. Bem, e que tal a Costa Rica? Já esteve na Costa Rica? — O suor porejava em todo seu corpo. Talvez ele devesse nadar um pouco. Ouviu falar que havia peixes-bois no rio Dulce.
— Já viu um peixe-boi?
— David!
Ela devia ter chegado mais perto, porque ele pôde sentir-lhe o calor se espalhando todo em volta dele, e pensou que talvez isto pudesse ajudar, mergulhar naquele calor, movimentos pesados, livrar-se de toda aquela tremedeira. Devia levá-la até aquela rede e ver só o quanto ela seria quente. Como Débora conseguia ser tão quente, como conseguia ser tão quente... as palavras tinham um ritmo contínuo em sua cabeça. Temendo abrir os olhos, ele a alcançou cegamente e a puxou para si. Faces encostadas, ele buscou por sua boca. Beijou-a. Ela retribuiu o beijo. A mão dele deslizou para agarrar um dos seios. Meu Deus, como ela era boa! Como tinha o sabor de salvação, de Panamá, de quando a gente cai na cama quando está com sono.
Mas então mudou, mudou lentamente, tão lentamente que ele só notou quando a mudança estava quase completa, e a língua dela retorcendo-se dentro de sua boca, tão espessa e estúpida como um pé de lesma, e o seio, merda, o seio estava saltando, tremendo como a vermina que estava dentro de sua mão esquerda. Ele a empurrou, abrindo os olhos. Viu cruas olheiras costuradas sobre as bochechas. Os lábios se abriram, boca cheia de dentes. Face de pura carne. Ele ficou de pé, golpeando o ar, desejando rasgar o filme de feiúra que havia descido sobre ele.
— David? — Ela distorceu seu nome, comendo as sílabas como se estivesse tentando tragar e falar tudo de uma vez.
Voz de sapo, voz de demônio.
Ele girou em torno de si, pegou um vislumbre do céu negro e das pontas das árvores e de uma lua cor de osso no fundo de uma mina escura, aprisionada numa jaula de ramos e galhos.
Negras formas enverrugadas das choças, portas em flamas amarelas com tortuosas sombras humanas em seu interior. Piscou, sacudiu a cabeça. Não foi embora, era real. O que era este lugar? Não era uma vila na Guatemala, ah, mas não era mesmo!
Ouviu um sufocado rosnado selvagem vindo de sua garganta, e cambaleou para trás, cambaleou para trás de tudo. Ela caminhou atrás dele, coaxando seu nome. Peruca de palha negra, pinceladas de gelatina brilhante em lugar dos olhos. Algumas das sombras humanas estavam saindo aos arrancos pelas suas portas, reunindo-se atrás dela, falando com ela em linguagem demoníaca. Demônios de longas pernas e pele de alcaçuz com corações como tambores, nulidades sem rosto de uma dimensão de enfermidade. Ele recuou mais alguns passos.
— Posso ver você. Eu sei quem você é.
— Tá tudo bem, David. — Ela sorriu.
Claro! Débora pensou que ele estava tentando comprar-lhe um sorriso, mas ele não era tolo. Mingolla viu como ele desmanchou-se na cara dela, do mesmo modo que alguma coisa estragada derrete através do fundo de um saco de doces, após ter ficado uma semana na lata de lixo. Exultante sorriso daquela puta, a Rainha dos Demônios. Ela tinha-lhe feito isto. Estava de conluio com aquela má vida em sua mão e tinha feito feitiçaria com sua cabeça. O fez ver por baixo da camada de merda e magia em que ela vivia.
— Eu vejo você — disse ele.
Tropeçou, caiu para trás com violência, tropeçou novamente, e se levantou, correndo para a cidade. Samambaias batiam em suas pernas, galhos arranhavam-lhe o rosto. Teias de sombras agrilhoavam a trilha, e o crocitar dos insetos tinha o som de metal sendo afiado. Bem acima de sua cabeça, mirou uma grande árvore com ramos lunaticamente retorcidos, como que erguidos por vontade própria para observar a água. Uma árvore anciã, árvore de magia branca. Chamou por ele. Ele parou ao seu lado, sugando o ar. O luar o refrescou, banhando-o de prata, e ele compreendeu o propósito da árvore. Fonte de brancura no bosque trevoso, brilhando para ele somente. Fez um punho com a mão esquerda. A coisa em sua mão contorceu-se como um peixe frio, freneticamente, como se soubesse o que a aguardava. Ele estudou os padrões místicos profundamente gravados na casca e encontrou seu ponto de confluência. Enrijeceu-se como aço.
Então projetou o punho contra o tronco. Uma dor fulgurante lancetou-se em seu braço, e ele gritou. Mas atingiu a árvore novamente, e atingiu-a uma terceira vez. Manteve presa com firmeza a mão contra o corpo, abafando a dor. Já estava quase inchada, tornando-se parecida com mão de desenho animado. Mas nada moveu-se dentro dela. Os bancos do rio, com seus sussurros e sombras, não mais o ameaçavam: haviam-se transformado em lugares de luzes comuns, trevas comuns, e mesmo a brancura da árvore parecia ordinariamente brilhante.
— David! — Era a voz de Débora, não muito longe dali.
Parte dele queria ficar, para ver se ela se transformara em algo, inocente, algo comum, ou não. Mas não podia confiar nela, não podia confiar em si mesmo, e começou novamente a correr.
Mingolla pegou a barca para a margem oeste, achando que deveria encontrar Gilbey, que uma dose da beligerância de Gilbey poderia arrastá-lo de volta à realidade. Sentou-se na proa, próximo a um grupo de cinco outros soldados, um dos quais estava vomitando sobre a amurada, e para evitar papo ele deu-lhes as costas e ficou olhando a água escura escorregar para trás. O luar iluminava as cristas das pequenas ondas, e entre aqueles reflexos ele parecia ver a curva partida de sua vida: um garoto que vivia para as noites de Natal, pintava e desenhava, que recebia louvores, irracionalmente crescendo até o ginásio, sexo, drogas, crescendo ainda mais, desenhando de novo e então, quando se esperava que a curva assumisse uma forma mais significativa, com propósito, foi podada, cortada fora, mantida pendurada, todo seu processo desmistificado e explicável. Descobriu o quanto fora tola a idéia do ritual. Como um agonizante agarrando-se a um viático de água benta, ele havia-se agarrado à magia quando a lógica da existência provara ser insustentável.
Agora os frágeis elos mágicos haviam-se dissolvido, nada o sustentava, e ele estava caindo através das negras zonas da guerra, esperando ser despedaçado por um dos seus monstros. Levantou a cabeça e olhou para a margem oeste. A costa para a qual se dirigia estava negra como a asa de um morcego e inscrita com arcanos de violentas luzes. Copas de árvores e palmeiras estavam fundidas numa mesma silhueta, contra um arco-íris de néon brilhante. Arcos gaseificados de vermelho sangue e verde limo e índigo eram visíveis por entre eles: fragmentos de feras luminosas. O vento trouxe berros e música selvagem. Os soldados ao lado dele gargalharam e xingaram, e o cara continuou vomitando. Mingolla pousou a testa sobre a amurada de madeira, só para poder sentir algo sólido.
No Club Demônio, a prostituta de peitos grandes de Gilbey estava se espreguiçando no balcão, olhando para seu drinque.
Mingolla embarafustou entre pessoas que estavam dançando, através de calor e ruído e véus de fumaça lavanda. Quando caminhou até a prostituta, ela colocou seu sorriso profissional e agarrou-lhe o escroto. Ele lhe deu um chega-pra-lá.
— Cadê o Gilbey? — gritou Mingolla. Ela lhe deu um olhar confuso, e então a luz se fez.
— Miin-golla?
Ele concordou. Ela remexeu na bolsa e sacou um papel dobrado.
— Eeee-duu-Giil-biii — disse ela. — Paaa-ra miim, cinco dólares. Mingolla lhe entregou o dinheiro e pegou o papel. Era um panfleto cristão com um croqui feito a bico-de-pena de uma estrada estreita, com um Jesus com cara de poucos amigos na frente, e no meio do desenho uma faixa cuja primeira linha dizia: “Os últimos dias estão chegando.” Ele virou o papel e encontrou no verso uma nota manuscrita. Era um puro Gilbey: sem explicações, sem sentimentos. Só o fundamental.
Eu vou pro Panamá. Se você quer fazer a viagem, dá uma checada num cara chamado Ruy Barros, em Livingston. Ele vai arrumar um lugar pra você. Talvez eu o veja de novo.
G.
Mingolla deduzira que sua confusão chegara a um pico, mas o fato da deserção de Gilbey jamais conseguiria entrar em sua cabeça, e quando tentou forçar sua entrada, sentiu-se mais confuso do que nunca. Não que não entendesse o que havia acontecido. Ele entendia até muito bem, podia mesmo ter previsto isso. Como um rato esperto que viu seu buraco favorito bloqueado por uma ratoeira, Gilbey tinha simplesmente cavado outro buraco e escapado por ele. O que confundia Mingolla era a total falta de referências. Ele e Gilbey e Baylor pareciam triangular bem a realidade, localizar um ao outro com um mapa coerente de deveres e lugares e eventos — e agora que ambos tinham partido, Mingolla sentia-se principalmente assustado. Fora do clube, ele deixou a multidão empurrá-lo pelo caminho e olhou para os animais de néon sobre os bares. Galo gigante azul, touro verde, tartaruga dourada com ferozes olhos vermelhos. Grandes identidades encarando-o com desdém. Fluxos coloridos derramando-se das figuras, manchando o ar com palidez espalhafatosa, dando a todo mundo uma complexão farinácea. Espantoso, Mingolla pensou, como se consegue respirar essa coisa granulosa e sem cor, e nem ao menos tossir. Tudo era espantoso, tudo era nonsense. Tudo que ele via o atingia como algo único e impenetrável, mesmo o mais lugar-comum dos signos. Descobriu-se olhando para as pessoas — para as prostitutas, os moleques de rua e para um PM que estava conversando com um colega, dando tapinhas no pára-lama do seu jipe como se estivesse fazendo uma festinha num animal de estimação verde-oliva — e tentava imaginar o que realmente estavam fazendo, quais significados especiais suas ações tinham para ele, quais pistas apresentavam que pudessem deslindar o nó de sua própria existência. No fim, percebendo que necessitava de paz e silêncio, ele dirigiu-se até a base aérea, achando que poderia encontrar uma cama vaga e nela adormecer para toda aquela confusão. Mas quando veio ao atalho que conduzia à ponte inacabada, desistiu e fez meia-volta, decidindo que não estava com saco para lidar com sentinelas e oficiais de dia. Densos arvoredos zumbindo com insetos encurtavam o atalho numa simples picada, e no seu fim estava uma fileira de bloqueios de estrada. Pulou por cima de um deles e logo estava subindo por uma curva bastante inclinada, que parecia levar para um ponto não muito abaixo do globo prateado da luz.
Apesar dos dejetos e do papel espalhado em sua superfície, o concreto parecia puro sob o luar, brilhando muito, como um fragmento de luz cristalizada, ainda não endurecida o suficiente para se tornar material. E, quando subia, pensou ter sentido a ponte tremer com seus passos, com a sensibilidade de um nervo exposto. Parecia caminhar pela escuridão e pelas estrelas, uma solidão do tamanho da criação. Sentia-se bem e com uma grande solidão, talvez um pouco demais, com o vento levando pelo ar pedaços de papel e os sons dos insetos deixados para trás.
Após alguns minutos, ele vislumbrou o corte irregular que encerrava a ponte logo adiante. Quando o alcançou, sentou-se nele cuidadosamente, balançando as pernas. O vento cortante soprava através das traves expostas, comprimindo-lhe os tornozelos. Sua mão pulsava e estava quente, febril. Lá embaixo, brilhos multicoloridos aderiam-se à margem negra da margem leste como uma colônia de algas bioluminescentes. Perguntou-se o quão alto estaria. Não alto o bastante, pensou. Uma música fraca era arrastada pelo vento — o incansável delírio de San Francisco de Juticlan — e imaginou que o piscar das estrelas era causado pela fina névoa de música que flutuava por ali.
Tentou pensar no que fazer. Não lhe ocorreu muita coisa.
Procurou imaginar Gilbey no Panamá. Piranhando, bebendo, brigando. Do mesmo jeito que ele fazia na Guatemala. Neste ponto a idéia de deserção abandonou Mingolla. No Panamá ele poderia viver assustado. No Panamá, embora sua mãe pudesse não tremer, outra coisa maligna poderia se desenvolver. No Panamá ele poderia desenvolver uma cura mágica para suas aflições, porque lá ele poderia estar muito ameaçado pelo real para poder tirar força dele. E finalmente a guerra poderia chegar até o Panamá.
Deserção poderia não dar em coisa alguma. Ficou olhando a selva banhada pelo brilho prateado da lua, e pareceu que uma parte essencial dele estava escorrendo de seus olhos, mergulhando no curso do vento e correndo para longe de Ant Farm e suas crateras fumegantes, para longe do território da guerrilha, para longe da junção indefinida do céu com o horizonte, irresistivelmente empurrada para um ponto em que a vitalidade do mundo fosse quase nula, esvaziada. Sentiu-se esvaziar também, tornando-se mais frio e vago e lento. Seu cérebro tornou-se incapaz de pensar, capaz somente de recordar percepções. O vento trouxe-lhe perfumes verdes que fizeram suas narinas arderem. A escuridão do céu dobrou-se à sua volta, e as estrelas eram apenas furinhos de alfinete de sensações. Não dormiu, mas algo nele adormeceu. Um sussurrar o trouxe de volta da beira do mundo. Primeiro pensou que fosse sua imaginação, e continuou a namorar o céu, que se havia iluminado num vivido azul de pré-aurora.
Então ouviu o ruído de novo e olhou para trás. Enfileirados através da ponte, cerca de sete metros para trás, estavam uma dúzia ou mais de crianças. Algumas de pé, outras agachadas. A maioria vestia farrapos; algumas cobriam-se com folhas de parreira ou folhagens, e outras estavam nuas. Vigilantes, silenciosas, facas brilhavam em suas mãos. Todas estavam emaciadas, os cabelos compridos parecendo esteiras, e Mingolla, lembrando-se das crianças mortas que havia visto de manhã, ficou temeroso por um momento. O medo brilhou nele como uma brasa trazida à vida por uma aragem, morrendo um instante mais tarde, reprimido não só por alguma acomodação racional mas por uma percepção de que aquelas figuras maltrapilhas poderiam ser uma oportunidade para a rendição. Não estava ansioso para morrer, entretanto não estava mais disposto a desperdiçar mais esforço em sobreviver. Sobrevivência, ele tinha aprendido, não era o propósito último da alma. Permaneceu encarando-as. A maneira como estavam, sua pose, lembravam-no de um grupo de neandertais no Museu de História Natural. A lua ainda estava alta, fazendo-os formarem sombras definidas como torrões de grafite.
Finalmente, Mingolla deu-lhes as costas. O horizonte mostrava uma distinta linha de escuridão verde.
Esperou ser esfaqueado ou empurrado, rodando lá pra baixo até quebrar-se contra o rio Dulce — suas águas tinham uma cor metálica sob o céu brilhante. Mas em vez disso uma voz soou em seu ouvido:
— Ei, macho.
Agachado ao seu lado estava um garoto de quatorze ou quinze anos, com uma cara escura simiesca emoldurada por cachos de cabelos negros, compridos até os ombros. Usava um calção esfarrapado. Uma serpente enroscada estava tatuada em sua testa. Ele cutucou a cabeça de um lado, então do outro. Estava perplexo. Ele poderia ter visto o verdadeiro Mingolla através das camadas de falsas aparências. Fez um ruído rosnado com a garganta e ergueu a faca, agitando-a para os lados, deixando Mingolla observar seu fio afiado, como ele rasgava o luar com sua lâmina. Uma faca de campanha de um kit de sobrevivência na selva, com uma empunhadura metálica. Mingolla assobiou, espantado.
O garoto pareceu alarmado pela sua reação. Abaixou a faca e mudou de lugar.
— Que qui tu tá fazendo aqui, cara?
Uma quantidade de respostas ocorreu a Mingolla, a maioria demandando muita energia para serem verbalizadas. Ele escolheu a mais simples: — Eu gosto daqui. Gosto da ponte.
O garoto olhou de soslaio para Mingolla.
— A ponte é mágica. Sabia disso?
— Houve um tempo em que eu acreditaria em você — falou Mingolla.
— Cê tem que falar mais devagar. — O garoto crispou a face. — Se for muito rápido, eu não entendo.
Mingolla repetiu seu comentário, e o garoto disse: — Cê acredita, gringo. Por que outra razão cê tá aqui? — Com um movimento plano de seu braço ele descreveu uma continuação imaginária para o curso ascendente da ponte.— É pra cá que a ponte viaja agora. Não tem vontade de atravessar o rio. Ela é uma peça de pedra branca. Não significa a mesma coisa que uma ponte significa.
Mingolla estava surpreso em ouvir seus próprios pensamentos ecoados por alguém que mal parecia um hominídeo.
— Eu venho aqui — continuou o garoto — para ouvir o vento, ouvir ele cantar dentro do ferro. E eu sei coisas com ele. Eu posso ver o futuro. — Ele riu, expondo dentes enegrecidos, e apontou para o sul, em direção ao Caribe. — O futuro está naquela direção, cara.
Mingolla gostou da piada. Sentiu uma afinidade com o garoto, por qualquer um que pudesse criar piadas da perspectiva daquele garoto, mas não podia pensar numa maneira de exprimir seus bons sentimentos. Finalmente, ele disse: — Você fala inglês muito bem.
— Merda, o que ocê acha? Só porque vivemos na selva temos que falar como animais? Merda! — O garoto cortou a superfície de concreto com a ponta da faca. — Tenho falado inglês por toda minha vida. Os gringos sim são é muito estúpidos pra aprender espanhol.
A voz de uma garota soou por trás deles, apressada e peremptória. As outras crianças haviam-se aproximado até uma distância de três metros, seus rostos selvagens absortos em Mingolla, e a garota estava parada bem à frente de todos eles.
Tinha as maçãs do rosto afundadas e olhos bem fundos. Cabelos em formato de rabo de rato caíam sobre os seios pequenos. Os ossos dos quadris estavam cobertos por uma saia em trapos, que o vento empurrava por entre suas pernas. O garoto deixou-a terminar, então deu-lhe uma prolongada resposta, pontuando palavras com pancadas da empunhadura metálica de sua faca contra o concreto, soltando lascas com cada impacto.
— Gracela — disse para Mingolla. — Ela quer matar você. Mas eu digo, alguns homens têm um pé no mundo da morte, e se você matá-los, a morte levará você também. E você sabe por quê?
— Por quê?
— Porque é verdade. Você e a morte — o garoto agarrou uma das mãos com a outra — são assim, ó.
— Talvez — disse Mingolla.
— Talvez não. A ponte me contou. Me contou que eu seria gratificado se eu te deixar viver. E ocê é gratificado pela ponte. Essa magia que ocê não acredita te salvou de se foder. — O rapaz abaixou-se e sentou-se de pernas cruzadas. — Gracela, ela não se importa se ocê vive ou morre. Ela só vai contra mim porque quando eu for embora, ela vai ser a chefe. Ela é, cê sabe, impaciente. Mingolla olhou para a garota. Ela encontrou seu olhar com frieza — uma bruxinha com os olhos fendidos, cabelos cor de amora preta e quadris pontiagudos.
— Aonde você vai? — perguntou ao garoto.
— Eu tenho o sonho de que viverei no sul. Sonho que tenho um armazém cheio de ouro e cocaína.
A garota começou a torrar-lhe a paciência novamente, e ele atirou pra trás uma fileira de sílabas irritadas.
— O que você disse? — perguntou Mingolla.
— Eu disse: “Gracela, se ocê falar mais merda, eu fodo você e te jogo no rio.” — Ele deu uma piscadela para Mingolla. — Gracela ainda é virgem, e ela se preocupa muito com a primeira vez. O céu estava ficando cinzento, faixas cor-de-rosa esmaecendo no leste. Pássaros circulavam sobre a selva lá embaixo, formando verdadeiros rebanhos sobre o rio. Na meia-luz Mingolla notou que o peito do garoto estava atravessado por marcas de cicatrizes: ferimentos de faca que não tiveram o tratamento adequado. Pedacinhos de vegetação estavam presos em seus cabelos, como adornos primitivos.
— Diga-me, gringo. Eu ouvi falar que na América tem uma máquina que tem a alma de um homem. É verdade?
— Mais ou menos.
O rapaz concordou com gravidade, suas suspeitas confirmadas.
— Ouvi dizer também que a América construiu um mundo de metal no céu.
— Ainda estão construindo.
— E a casa de seu presidente? Ela é feita de pedras que escondem a mente de um mago morto?
Mingolla deu a isto a devida consideração: — Eu duvido. Mas é possível.
O vento bateu contra a ponte, despertando-o. Ele sentiu seu frescor no rosto e saboreou a sensação. Aquilo — o fato de que ainda poderia tirar simples prazeres da vida — despertou-o mais do que o ruído repentino.
As faixas cor-de-rosa no leste estavam se aprofundando em tons de escarlate e espalhando-se por regiões mais amplas.
Hastes de luz surgiram rasgando os cimos das nuvens para tingir o ventre das nuvens mais baixas em tons de malva. Muitas crianças começaram a murmurar em uníssono. Um canto.
Estavam falando em espanhol, mas pelo jeito que suas vozes confundiam as palavras, o canto soava gutural e malevolente, uma linguagem de trolls. Ouvindo-os, Mingolla imaginou-os agachados em torno de uma fogueira, em matagais de bambus.
Facas sanguinolentas erguidas ao sol sobre a presa abatida. Fazer amor nas noites verdes entre carnuda vegetação ao estilo de Rousseau, enquanto pítons com olhos âmbar enrolam-se em galhos sobre suas cabeças.
— Verdade, gringo — disse o garoto, aparentemente meditando ainda sobre as respostas de Mingolla. — Estes são tempos maus. — Ele olhou sombriamente para o rio. O vento agitava as pesadas madeixas dos seus cabelos.
Observando-o, Mingolla começou a invejá-lo. Apesar do desânimo de sua existência, este pequeno rei-macaco estava contente com seu lugar no mundo, seguro de sua natureza. Talvez ele estivesse iludido, mas Mingolla invejou sua ilusão, e especialmente seu sonho de ouro e cocaína. Seus próprios sonhos tinham sido dispersados pela guerra. A idéia de sentar e borrar cores numa tela não mais tinha qualquer atração para ele. Nem pensava mais em voltar para Nova York. Embora a sobrevivência tenha sido sua prioridade em todos aqueles meses, nunca tinha parado para pensar o que a sobrevivência pressagiava, e agora não acreditava que pudesse retornar. Acostumara-se com a guerra, agora ele sabia, tornara-se capaz de respirar suas toxinas. Ele poderia sufocar no ar caseiro da paz. A guerra agora era seu novo lar, seu novo lugar de direito.
Então a verdade disto atingiu-o com a força de uma iluminação, e ele compreendeu o que tinha de fazer.
Baylor e Gilbey tinham atuado de acordo com suas naturezas, e ele teria que agir de acordo com a sua, o que foi imposto sobre ele como a trilha da aceitação. Lembrou-se da história de tio Moisés sobre o piloto e riu para si mesmo. Num certo sentido seu amigo — o cara que ele tinha mencionado na sua carta não enviada — estivera certo sobre a guerra, sobre o mundo.
Ele estava cheio de símbolos, padrões, coincidências, e ciclos que pareciam indicar a ação de algum poder mágico. Mas estas coisas eram o resultado de um processo natural sutil. Quanto mais se vive, mais ampla é a experiência, mais complidada a vida se torna, e eventualmente se estará preso no meio de tantas interações, uma teia de circunstâncias e emoções e eventos, que nada será mais simples e tudo será objeto de interpretação. Isso, de qualquer modo, era perda de tempo. Mesmo a mais lógica das interpretações e meramente uma tentativa de aprisionar o mistério dentro de uma jaula e fechar a porta dela. Isto não fazia a vida menos misteriosa. E isto é igualmente inútil para definir padrões, confiar neles, obedecer às regras místicas que eles parecem implicar. Seu único curso efetivo é o entrincheiramento.
Deve-se admitir o mistério, a incompreensão de sua situação, e proteger-se contra ela. Sustentar suas teias, limpar os cantos difíceis, instalar alarmes. É preciso planejar agressivamente. Tem que se tornar o monstro do seu próprio labirinto, tão brutal e traiçoeiro como o destino do qual se está tentando escapar. Este era o tipo de aceitação militante que o piloto do tio Moisés não teve a oportunidade de perceber, que o próprio Mingoila — embora a oportunidade houvesse sido sua — falhou em perceber. Ele via aquilo agora. Meramente reagira ao perigo e não o desafiara ou se antecipara contra ele. Mas agora pensou que poderia ser capaz de fazê-lo.
Voltou-se para o garoto, achando que ele poderia apreciar esta inspiração sobre “magia”, e pegou uma tremulação de movimento com o canto do olho. Gracela. Vindo por trás do garoto, com a faca mantida baixa, pronta para cortar. Num reflexo, Mingoila projetou a mão doente para bloqueá-la. A faca arranhou-lhe a beira da mão, defletiu-se para cima e escorregou por cima do ombro do garoto.
A dor na mão de Mingolla era excruciante, cegando-o mo-mentaneamente. E quando agarrou o antebraço de Gracela para preveni-la de atacar novamente, sentiu outra sensação, quase coberta pela dor. Pensou que a coisa dentro de sua mão estivesse morta, mas agora pôde senti-la agitando-se nas bordas de seu ferimento, gotejando para fora no farto corrimento de sangue sobre o pulso. Estava tentando rastejar para dentro novamente, contorcendo-se contra o fluxo. Mas o pulsar de seu coração era muito forte, e logo a coisa tinha-se ido, pingando sobre a pedra branca da ponte.
Antes que pudesse sentir alívio ou surpresa ou de qualquer maneira ter absorvido o que tinha acontecido, Gracela tentou libertar-se. Mingolla agarrou os joelhos dela, arrastando-a para baixo e arremessando-lhe a mão que segurava a faca contra a ponte. A faca saltou para longe. Gracela debateu-se selvagemente, arranhando a cara de Mingolla, e outras crianças avançaram um passo. Mingolla colocou o braço esquerdo em alavanca sob o queixo de Gracela, sufocando-a. Com a mão direita, agarrou a faca e a pressionou contra seu seio. As crianças pararam, e Gracela afrouxou. Ele podia senti-la tremer. Lágrimas correram pela sujeira de seu rosto. Parecia agora uma garotinha assustada, não uma bruxa.
— Puta! — exclamou o garoto. Ele ficou de pé, segurando o ombro, e ficou encarando Gracela.
— O ombro? Está mal? — indagou Mingolla.
O garoto inspecionou o sangue brilhante em seus dedos.
— Tá doendo — disse. Ele caminhou para a frente de Gracela, e sorriu para ela. Desabotoou a parte de cima do calção.
Gracela ficou tensa.
— O que você está fazendo? — Mingolla repentinamente sentiu-se responsável pela garota.
— Vou fazer o que disse pra ela, cara. — O garoto desabotoou o resto do calção e o abaixou. Já estava semi-ereto, como se a violência o houvesse excitado.
— Não — disse Mingolla, descobrindo quando falou que isso não fora nada inteligente.
— Pega a tua vida — retrucou o garoto rispidamente. — E se manda. Uma poderosa rajada de vento atingiu a ponte. Pareceu a Mingolla que a vibração da ponte, a batida do seu coração e o tremor de Gracela eram derivados do mesmo tremor de pulso. Sentiu um comprometimento quase visceral com o momento, algo que não tinha nada a ver com sua preocupação com a garota. Talvez, ele pensou, fosse uma implementação de suas novas convicções.
O garoto perdeu a paciência. Gritou com as outras crianças, tocando-as para longe com gestos cortantes. Com ar rabugento, elas moveram-se para baixo da curva da ponte, posicionando-se ao longo da subida, flanqueando-a e formando uma avenida aberta. Além deles, sob um céu lavanda, a selva se estendia pelo horizonte, quebrada somente pelo vazio retangular formado pela base aérea. O garoto abaixou-se aos pés de Gracela.
— Nesta noite — disse ele a Mingolla — a ponte nos reuniu. Nesta ponte nós sentamos e conversamos. Agora que tudo acabou, meu coração me diz para matar ocê. Mas como cê evitou que Gracela me cortasse fundo, dou pra ocê uma chance. Ela deve fazer um julgamento! Se ela diz que ela vai com ocê, nós — ele acenou para as outras crianças — matamos ocê. Se ela quiser ficar, então ocê deve ir. Sem mais conversa, sem babaquice. Ocê deve ir. Entende?
Mingolla não estava temeroso, e sua falta de medo não nascia de uma indiferença pela vida, mas da clareza e da confiança. Estava na hora de parar de reagir contra os desafios, estava na hora de encontrá-los. Veio-lhe um plano. Não havia dúvida de que Gracela iria escolhê-lo, escolher uma chance de viver, não importava o quanto ela fosse estreita. Mas antes que ela pudesse decidir, ele poderia matar o garoto. Então correria direto através dos outros: sem seu líder, não conseguiriam se manter unidos. Não era um plano dos melhores e ele não gostava da idéia de ferir o garoto. Mas pensou que poderia ser capaz de ter êxito.
— Entendi — disse ele.
O garoto falou com Gracela. Disse para Mingolla libertá-la.
Ela se sentou, esfregando o lugar onde Mingolla a havia ferido com a faca. Olhou timidamente para ele, e para o garoto. Empurrou o cabelo para trás e projetou para a frente os seios, como se estes estivessem sendo puxados por pinças. Mingolla estava impressionado com o comportamento da garota. Talvez, pensou ele, estivesse tentando ganhar tempo. Ele parou e fingiu estar sacudindo as roupas, chegando mais próximo do garoto, que permanecia agachado ao lado de Gracela. No oriente, uma bola de fogo vermelha havia clareado o horizonte. Sua luz sangüínea inspirou Mingolla, alimentando sua resolução. Ele bocejou e chegou ainda mais perto, firmando sua empunhadura na faca.
Poderia dobrar para trás a cabeça do garoto, puxando-lhe o cabelo, e cortar-lhe a garganta. Nervos saltaram em seu peito. Uma pressão estava crescendo dentro dele, pedindo-lhe que agisse, que ele deveria se mover agora. Mingolla se conteve. Mais um passo e poderia fazê-lo, mais um passo e estaria absolutamente seguro. Mas quando já estava dando aquele passo, Gracela percebeu e cutucou o ombro do garoto.
A surpresa deve ter-se mostrado na cara de Mingolla, porque o garoto olhou para ele e deu uma gargalhada.
— Cê acha que ela escolhe ocê? Merda! Cê não conhece Gracela, cara. Os gringos queimam sua vila. Ela lambe o rabo do diabo mas não aperta a mão d’ocê. — Ele riu, esfregando o cabelo dela. — Além disto, ela acha que si mi foder legal, talvez eu diga: “Ah, Gracela, eu tenho que ter mais disto!” E quem sabe? Talvez ela esteja certa.
Gracela pendeu para trás e tirou fora a saia. Quase não tinha pêlos entre as pernas. Um sorriso tocou-lhe os cantos da boca. Mingolla ficou parado em frente a ela, sem saber o que fazer. — Não vou matar ocê, gringo — disse o garoto sem olhar para cima. Ele estava correndo a mão sobre a barriga de Gracela.
— Eu disse pra ocê que eu não mataria um homem tão chegado à morte. — Mais uma vez ele gargalhou. — Ocê parece bem engraçado tentando se esgueirar. Eu tava te observando.
Mingolla estava tonto. Todos os preparativos que estava armando para matar, deixando de lado a ansiedade e a repulsa, só serviram como entretenimento para o garoto. A robustez da faca parecia moldar sua raiva em uma forma compacta, e desejou continuar seu ataque, retalhar este animalzinho que o havia ridicularizado; mas a humilhação estava misturada com a raiva, neutralizando-a. Os venenos da fúria sacudiram-no. Podia sentir cada incidência de dor e fadiga no corpo. A mão estava latejando, inchada e incolor como a mão de um cadáver. A fraqueza o invadiu. E alívio.
— Vai — disse o garoto. Ele deitou-se ao lado de Gracela, ergueu-se sobre um cotovelo, e começou a acariciar um dos bicos dos seios, deixando-o ereto.
Mingolla deu uns poucos passos hesitantes para a frente.
Atrás dele, Gracela fez um ruído, parecido com um miado, e o rapaz sussurrou alguma coisa. A raiva de Mingolla reacendeu-se — já o haviam esquecido —, mas continuou em frente. Quando passou pelas outras crianças, uma deu-lhe um tapinha nas costas, outra passou-lhe timidamente um seixo. Ele fixou os olhos no concreto branco escorregando por baixo dos pés.
Quando chegou ao meio da curva, se virou. As crianças haviam cercado Gracela e o garoto contra o término da ponte, bloqueando a visão. O céu havia-se tornado cinza-azulado atrás deles, e o vento carregou suas vozes. Estavam cantando: um chilreio, uma canção rasgada que soava como celebração. A raiva de Mingolla enfraqueceu, sua humilhação declinou. Não tinha nada por que se envergonhar. Embora não agindo de maneira sábia, o que fez ele o fez de uma postura de força e nenhuma quantidade de ridículo podia diminuir isto. As coisas estavam começando a entrar nos trilhos. Sim, estavam! Ele as faria entrar nos trilhos.
Por momentos ficou observando as crianças. Desta distância, seu canto tinha um apelo de selvageria, e sentiu um traço de preenchimento mental ao deixá-las para trás. Perguntou-se que poderia ter acontecido após o garoto ter “estreado” Gracela. Não estava preocupado, apenas curioso. Do jeito que a gente se sente ao deixar o cinema antes do filme acabar, antes do grand finale. Nossa heroína sobreviverá? Irá a justiça prevalecer? Trariam a sobrevivência e a justiça a felicidade em sua esteira? Logo o fim da ponte veio a ser banhado pelos raios dourados do amanhecer.
As crianças pareciam estar escurecendo e se dissolvendo no fogo celestial. Aquela fora a resolução de Mingolla. Atirou a faca de Gracela no rio e desceu a ponte, em cuja magia não mais acreditava, caminhando para a guerra, cujo mistério já havia aceitado como seu.
5
Na base aérea, Mingolla deu uma paradinha ao lado do Sikorsky que o havia trazido para San Francisco de Juticlan — havia reconhecido o aparelho pelas letras chamejantes pintadas, “Morte Sussurrante”. Descansou a cabeça sobre a letra E e lembrou-se de como Baylor havia recuado das letras, preocupado que elas pudessem transmitir alguma essência mortal.
Mingolla não se importava com o contato. As chamas pintadas pareciam aquecer-lhe o interior da cabeça, atiçando para a tona pensamentos tão lentos e indefinidos como fumaça. Pensamentos reconfortantes que não incorporavam imagens ou idéias. Só o gentil zumbido de atividade mental, como um motor funcionando em marcha lenta. A base estava voltando à vida ao seu redor. Jipes saem de barracas. Dois oficiais inspecionam o bojo de um avião de carga. Um cara conserta a empilhadeira. Pacífico, caseiro. Mingolla fechou os olhos, aninhado numa sonolência, deixando o sol e as chamas pintadas o envolverem com calor real e imaginário.
Algum tempo mais tarde — o quanto, ele não estava certo — uma voz disse:
— Foderam legal a sua mão, né?
Os dois pilotos estavam parados na porta da carlinga. Em seus trajes de vôo negros e capacetes, eles não pareciam nem esquisitos nem excêntricos, mas criaturas funcionalmente ameaçadoras. Mestres da Máquina.
— Sim. Fodeu legal — disse Mingolla.
— E como foi? — perguntou o piloto da esquerda.
— Dei um soco numa árvore.
— Coisa doida dar soco em árvore — comentou o outro piloto. — Árvores não vão pra lugar nenhum se você dá socos nelas. Mingolla fez um ruído de não-concordância.
— Vocês vão pra Ant Farm?
— Adivinhou! O que há, cara? Cansou da mulher tarada?
— Eu acho que sim. Me dá uma carona?
— Mas é claro — disse o piloto da esquerda. — Por que não sobe pela frente? Você pode sentar-se bem atrás de nós.
— Onde estão seus amigos? — perguntou o piloto da direita. — Foram-se — disse Mingolla, quando subia na carlinga.
— Não acho que veremos aqueles rapazes novamente — disse um dos pilotos.
Mingolla prendeu-se no cinto de segurança da cadeira do observador, atrás do lugar do co-piloto. Imaginara que haveria uma longa checagem de instrumentos, mas tão logo os motores se aqueceram o Sikorsky levantou vôo e se dirigiu para a direção norte. Com exceção dos sistemas de armamentos, nenhuma das defesas havia sido ativada. O radar, o sensor térmico e o mapeador de terreno, todos mostravam telas apagadas. Um tremor nervoso correu através dos músculos do estômago de Mingolla, quando ele considerou a variedade de perigos a que estavam expostos os pilotos, devido à sua confiança em seus capacetes miraculosos. Mas seu nervosismo diminuiu com o ritmo sussurrante dos rotores e sua percepção da potência daquele Sikorsky.
Ele lembrou-se de ter uma sensação similar de poder e segurança, enquanto estava sentado nos controles de seu canhão. Ele nunca a havia incentivado, nunca havia permitido que tal sentimento o dominasse, tivesse poder sobre ele. Tem sido um tolo.
Eles seguiram no curso nordeste ao rio, que serpenteava como uma extensão de arame azul-metálico por entre colinas cobertas de selva. Os pilotos riam e contavam piadas, e a viagem veio a ter o gosto de um passeio com dois garotões correndo pra lugar nenhum e cheios de cerveja até o topo. Em um ponto, o co-piloto dirigiu sua voz através dos alto-falantes de bordo, e lançou por eles uma dolorosa canção country.
Sempre que nos beijamos, querida,
Nossos lábios se encontram.
Sempre que você não tá comigo
Nós ficamos separados.
Foi chato quando você serrou
Meu cachorro ao meio.
Mas quando você atirou em mim,
Isto partiu meu coração.
Enquanto o co-piloto cantava, o piloto corria com o Sikorsky para trás e para a frente, num acompanhamento cambaleante, e quando a canção terminou, ele chamou Mingolla às suas costas:
— Você acredita que esse filho da puta aqui escreveu isso?
Pois ele fez! E ainda toca violão! O rapaz é um gênio!
— É uma grande canção — disse Mingolla, e estava sendo sincero. A canção o deixou feliz, e isto não era pouca merda não, senhor! Eles estavam correndo pelos céus, cantando aquele primeiro verso sempre e sempre. Mas então, quando deixaram o rio para trás, ainda seguindo o curso nordeste, o co-piloto apontou para uma seção da selva logo em frente e gritou: — Comedores de feijão! Quadrante quatro! Dá pra pegar eles? — Dá — disse o piloto. O Sikorsky deu uma guinada brusca, descendo em direção à selva, sacudiu, e uma chama surgiu em sua parte de baixo. Um instante mais tarde, o pesado tecido da selva explodiu numa bola de fumaça marmórea e fogo.
— Uuuu-au! — cantou o co-piloto, jubiloso. — “Morte Sussurrante” ataca novamente! — Com as armas chamejando, eles passaram rapidamente através dos crescentes véus de fumaça negra. Hectares de árvores estavam em chamas, e mesmo assim eles continuavam a atacar. Mingolla trincou os dentes com o barulho, e quando finalmente o tiroteio terminou, exaurido em sua insanidade, ele sentou-se pesadamente, cabeça baixa. Subitamente duvidou de sua habilidade em cooperar com a insanidade de Ant Farm, e recordou todas as razões que tinha para sentir medo. O co-piloto voltou-se para ele: — Você ainda não pegou nenhum chamado quente pra ficar olhando dessa maneira, cara. Você é um filho da puta de sorte, sabia?
O piloto iniciou uma inclinação lateral para o leste, para Ant Farm.
— Por que você acha isso? — perguntou Mingolla.
— Tenho uma visão clara de você, cara — disse o co-piloto.
— Posso dizer pra você, de verdade, que você não vai ficar muito tempo em Ant Farm. Não está claro por quê. Mas eu suspeito que você será ferido. Nada grave. Só um ferimento bom o suficiente para mandarem você de volta pra casa.
Quando o piloto completou a mudança de rota, um raio de sol inclinou-se para dentro da carlinga, iluminando o visor do co-piloto, e por uma fração de segundo Mingolla pôde vislumbrar vagamente a sombra de seu rosto lá atrás. Parecia inchado e malformado. Sua imaginação acrescentou detalhes. Tumores bizarros, bochechas rachadas e um olho membranoso e fechado.
Como a face de um mutante pós-nuclear de filme de cinema.
Estava tentado a acreditar que ele tinha realmente visto aquilo: as deformidades do co-piloto poderiam validar sua predição de um futuro seguro. Mas Mingolla rejeitou a tentação. Tinha medo de morrer, medo dos terrores ocultos pela vida em Ant Farm.
Mesmo assim, não queria mais saber de magia... a menos que houvesse uma magia envolvida em ser um bom soldado. Em obedecer às disciplinas, em praticar a ferocidade.
— Pode ser a sua mão que o faça voltar pra casa — disse o piloto. — Ela me parece bastante fodida. Parece com um ferimento de um milhão de dólares de bônus.
— Não. Não acho que seja a mão — discordou o co-piloto.
— É outra coisa. O que quer que seja, vai funcionar.
Mingolla podia ver sua própria cara flutuando no plástico negro do visor do co-pilofo. Seu reflexo era pálido e torcido, tão inteiramente não-familiar que por um momento ele pensou que a cara poderia ser um sonho mau que o co-piloto estivesse tendo.
— Mas o que que há com você, cara? — perguntou o co-piloto. — Não acredita em mim?
Mingolla quis explicar que sua atitude não tinha nada a ver com acreditar ou não, que ela assinalava seu intento de obter um futuro seguro através da segurança do seu presente — mas ele não sabia como colocar isto em palavras que o co-piloto pudesse aceitar. O co-piloto poderia meramente se referir de novo ao seu visor como testemunha de uma realidade mágica ou talvez poderia apontar lá pra frente, onde — a carlinga havia-se tornado opaca sob o impacto direto da luz solar — o sol agora parecia flutuar numa escuridão enevoada: uma distinta esfera brilhante com uma fervilhante coroa, parecido com um daqueles emblemas cabalísticos gravados em antigos selos. Era uma coisa de aparência má, temível, e mesmo que Mingolla não fosse tocado por aquilo, sabia que o piloto poderia ver nele um poderoso sinal. — Você acha que eu tô mentindo? —indagou o co-piloto, irritado. — Você acha que eu ia encher seu saco com alguma babaquice? Cara, eu não tô mentindo! Estou te dizendo uma porra de uma verdade!
Eles voaram para o oriente, na direção do sol, sussurrando a morte, em direção a um mundo disfarçado por um estranho e sangrento encantamento, sobre a selva verde-escura onde a guerra tinha enterrado suas raízes, onde homens em armadu-ras de combate lutavam sem qualquer boa razão contra homens usando escorpiões metálicos em suas boinas, onde loucos e perdidos vagavam pela mística luz da Zona de Combate Esmeralda e magos mentais meditavam sobre coisas ainda não vistas. O co-piloto manteve a bolha negra de seu visor em ângulo, virada em direção a Mingolla, esperando por uma resposta. Mas Mingolla só ficou olhando, e depois de algum tempo o co-piloto deu-lhe as costas.
Isaac Asimov
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















