



Biblio VT




Os pesadelos tiveram início em Nápoles. Começaram, como sempre acomece, por uma realidade banal.
Havia uma criança que eu costumava visitar na Casa dos Meninos. Chamava-se Antonino. Tinha oito anos, mas era tão miúdo de corpo e de rosto, tão franzino e pálido, que ninguém lhe atribuiria mais de cinco ou seis. Ao perceber minha chegada ao poeirento e pequeno pátio onde brincava com outros garotos, largava imediatamente o jogo e corria para mim, de braços estendidos, chamando-me pelo nome: "Signor Mauro! Signor Mauro!"
Assim que o tomava nos braços, tentava reter-me, pedia que me sentasse e lhe contasse coisas de minha pátria - a que distância ficava de Nápoles, que espécie de gente a habitava, que língua se falava e que pássaros e animais havia.
Enquanto conversávamos, os outros nos rodeavam e eu me via o centro de um grupo de garotos boquiabertos, fascinados, como se admirassem Pulcinello em sua casinha dourada de cortinas vermelhas. Sempre que alguém se juntava a nós, Antonino insistia em me apresentar, dizendo-lhe com toda a seriedade e grande profusão de gestos que eu era um "gran scrittore australiano" que vinha de um país maior que a Europa e onde ninguém, absolutamente ninguém, passava fome.
No momento em que me levantava para sair, agarrava-me a mão e saltitava a meu lado em suas raquíticas perninhas, pedindo-me que o deixasse levar meu paletó ou a máquina fotográfica, tal era seu desejo de passar comigo mais alguns instantes. Enquanto descia a rua estreita, por entre barracas de peixe, montes de lixo e monótonas filas de roupa a secar, eu olhava para trás e acenava com a mão, vendo-o retribuir o gesto-e sentia o coração pulsar de piedade, ternura e muita, muita vergonha.
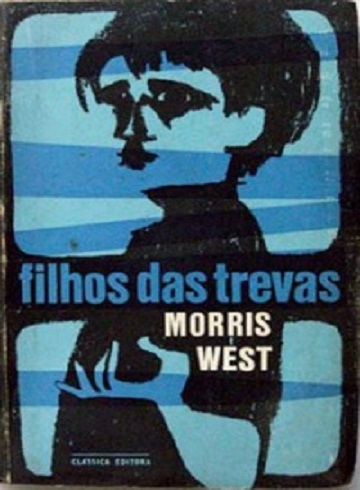
É que Antonino era um scugnizzo, um sem-lar, uma criança abandonada das ruelas sombrias de Nápoles.
Não era oriundo de Nápoles; procedia de Roma. Fizera a viagem sozinho, a pé, dormindo nas valas, alimentando-se como um animal, de pés descalços, coberto
de andrajos imundos. Ao alcançar os arrabaldes da cidade tinha feito uma espantosa caminhada através dos labirintos da estrada de ferro subterrânea, e conseguiu
finalmente
descansar num gradeamento metálico da Rua dos Dois Leprosos. Em seguida, ligara-se a um bando de outras crianças abandonadas que vivia esquadrinhando as ruas, furtando
ou servindo de alcoviteiros às moças do casino.
Todas as noites dormia num gradeamento aquecido pelo bafo de um forno de padeiro, ou entre as rodas de uma carroça de vendedor ambulante, ou nos degraus
de pedra de uma antiga igreja. Até que uma noite foi apanhado e levado para a Casa dos Meninos.
Alí se sentia seguro, acarinhado e amado, mais do que o fora em toda a vida. Seu frágil corpo começou a fortalecer-se, e o espírito, até então atormentado,
a acalmar-se.
Porém nunca mais foi criança, e quando se tornasse homem procuraria ser diferente dos outros homens, porque permanecia nele a cicatriz das ruas, o medo
dos dias sem sol e o terror das noites sem amor.
Na Casa dos Meninos tentavam fazê-lo esquecer. Ele, porém, opunha-se a isso, porque um dia seria adulto e voltaria para a velha e impiedosa cidade.
Assim, pus-me a sonhar com ele. . .
O sonho era sempre o mesmo. Passava-se de noite, uma noite de luar, fria e triste. Havia uma linha férrea - uma longa perspectiva de trilhos de aço entre
alamos esguios, nus e esqueléticos como no inverno. No fim da via, onde as linhas convergiam, existia um túnel, um arco negro na rocha cinzenta.
Havia uma criança caminhando ao longo dos trilhos - uma criança andrajosa, magra e coxa. Por vezes cambaleava e caía, mas logo se recompunha e prosseguia
manquejando.
Meu coração transbordava de piedade, mas quando a chamava ela se punha a correr.
Eu a seguia, chamando-a sempre, pedindo-lhe que parasse, prevenindo-a dos perigos que a espreitavam no escuro túnel. Mas ela não fazia caso. Era tragada
pelo sombrio
arco. Eu não desistia. Havia luzes no túnel, luzes rarefeitas, amarelas, contra as quais se recortava seu minúsculo corpo desfigurado, pulando como um animal
ferido durante o sono.
Ouvia o ruído de uma locomotiva. Gritava para preveni-la, mas ela não se detinha. Continuava a correr para a morte sem que isso parecesse assustá-la. Então
via o farol da locomotiva e, a seu clarão, o rosto da criança - não o rosto de Antonino, mas o do meu próprio filho!
Acordava sempre nesse momento, transpirando aterrorizado e gritando o nome do meu filho, que dormia serenamente em sua cama, sorrindo a seus tranqüilos
sonhos.
Concluí então que tinha de escrever este livro para me libertar do pesadelo. Devia fazer minha a voz das crianças, dos esfomeados, dos sem-lar, dos desprotegidos,
dos inocentes abandonados de Nápoles. Tinha de alertar as almas por elas, esquadrinhando as ruas como elas esquadrinhavam - não em busca de pão, mas de
piedade, de ternura e, sobretudo, de esperança.
Livro primeiro
"Ver Nápoles e morrer"
Capítulo primeiro
Há uma rua em Nápoles chamada Rua dos Dois Leprosos.
Para descobri-la é preciso mergulhar no labirinto de congostas e vielas da parte norte da Via Roma. O acesso faz-se através das estreitas gargantas de casas,
entre as quais se vêem cordas com roupa a secar como bandeiras de um triunfo de miséria. Fura-se por entre multidões ao redor de tendas de fruta, carrinhos de
peixe com
suas montanhas de mexilhões, tabuleiros de polvos e barricas de água lodosa em que rastejam caracóis. Roçase pelos vendedores ambulantes com seus fardos
de tecidos
baratos, jaquetas de segunda mão, calças remendadas e fotografias de estrelas de cinema em ordinárias molduras douradas.
É preciso evitar os queijos e lingüiças que pendem das janelas da salumeria; não tropeçar nas crianças sujas e maltrapilhas que remexem os montes de lixo
em busca
de cascas, restos de fruta e pontas esmagadas de cigarros.
Passa-se por uma dúzia de santuários com estátuas poeirentas e quadros de santos de cores berrantes, atrás dos vidros sujos e manchados. As lanternas brilham
sinistramente, e as pequenas velas votivas bruxuleiam na fria agitação do vento. Penetra-se em quartos minúsculos onde mulheres de face encovada se debruçam sobre
um trabalho
de renda ou bordado, ou onde famílias de dez ou doze membros tagarelam e gesticulam por cima das tigelas de pasta fumegante.
Finalmente chega-se à Rua dos Dois Leprosos.
Aqui não há comércio. É uma viela escura e estreita, de paredes úmidas e lodosas, de portas em arcos sombrios, frios e tristes. No entanto, quando se passa,
vê-se que fervilham de vida. Figuras disformes acocoram-se confusamente em torno de pratos de estanho cheios de cinza quente de carvão vegetal. Uma trouxa de
farrapos lamenta-se e estende a mão suplicante.
Num pátio escuro, onde uma tênue luz brilha num pequeno nicho, algumas crianças imundas dão-se as mãos e dançam num mísero simulacro de alegria. O frio
aperta e obriga a meter as mãos nos bolsos; o arco de um contraforte espanhol forçanos a baixar a cabeça, antes de nos precipitarmos para a luz, no extremo da Rua
dos Dois Leprosos.
Ao chegar ali, encontramo-nos numa diminuta praça com um monte de entulho ao centro e escasso trânsito de pessoas, pálidas e andrajosas, que passam e tornam
a passar das vielas escuras para a luz amarelada da praça e para as ruas dos vendedores.
Foi nessa praça que Peppino me deu a primeira lição sobre Nápoles.
Para mim, era um momento importante. Por isso, vestiram-me com certo cuidado. Envergara um velho blusão de
marinheiro, esfarrapado e cerzido em vários lugares. A calça estava puída e remendada, e um par de sapatos toscos, de biqueiras pontiagudas, feriam-me horrivelmente
os pés.
Há três dias não me barbeava, tinha as unhas negras e as mãos sujas de gordura e amarelecidas pelo tabaco. Em qualquer outra cidade teria sido expulso pela
polícia, mas ali, nos bassi de Nápoles, havia milhares vestidos como eu.
Mesmo assim, era difícil escapar à curiosidade. Sou alto, com um metro e oitenta e dois de altura, ombros largos, mãos e pés enormes. Tenho cabelo castanho
e olhos cor de avelã e, quando Peppino caminhava a meu lado, parecíamos Davi e Golias. Eu precisava de Peppino. Precisava tê-lo como amigo e
bom companheiro que sabe quando deve calar-se. Precisava de sua confiança no meio da labiríntica escuridão do formigueiro napolitano. Precisava dele para me traduzir
o estranho dialeto
napolitano - uma língua esotérica que só os iniciados conseguem compreender. Falo o toscano cantante e sinto-me à vontade entre pessoas educadas, mas ali, sem Peppino,
seria como um surdo-mudo.
Contar neste momento toda a história de Peppino seria não só antecipar, mas expor um mistério que o leitor acabaria por considerar uma mentira inverossímil.
Bastará, por ora, dizer que Peppino é um napolitano de vinte anos que foi um scugnizzo, um garoto que vivia nas ruas como centenas de outros vivem ainda, esteve
numa casa de correção, e hoje, por singular e miraculosa graça, é um homem que se respeita e é respeitado.
Indicaram-no a mim como alguém capaz de mostrar-me a vida de Nápoles, de ensinar-me a compreendê-la e ajudar-me a
explicar ao resto do mundo, àqueles que vivem longe de tanta miséria, que não podem compreendê-la nem minorá-la.
Eram nove horas da noite. Estávamos sentados, Peppino e eu, no monte de entulho no centro da praça, fumando um cigarro e observando o vaivém das pessoas.
À nossa frente havia uma porta. Ao contrário das outras entradas da praça e das vielas, esta estava profusamente iluminada por um tubo de neon por cima de
um número bem visível. Um homem estava de pé encostado à ombreira. Era baixo, atarracado, bem-vestido, de cabelos negros e lustrosos, sorriso untuoso e olhos pretos
no rosto levantino.
Quando homens ou grupos de adolescentes paravam diante da porta, lançava-lhes um rápido olhar, depois se afastava para deixá-los entrar. Quando alguém saía,
olhava-o por cima do ombro como se esperasse um sinal de aprovação antes de lhe permitir abandonar aquele lugar. Durante todo o tempo, não disse uma palavra.
- Aquilo - informou Peppino - é um casino, uma casa de encontros. O homem é o cáften.
Aquiesci. Estava bem à vista. Um bordel é igual em todas as latitudes e o mesmo fazem todos os indivíduos que o freqüentam.
Eu estava mais interessado no fluir constante dos homens e adolescentes que entravam e saíam à luz do tubo de neon. Podese ser induzido em erro pelo aspecto
daquela pobre e mal alimentada gente, mas tenho certeza de que alguns daqueles jovens não tinham mais do que dezesseis anos. Pedi a opinião de Peppino. Ele encolheu
os ombros, estendeu as mãos e inclinou a cabeça para o lado, num gesto de impotência característico dos napolitanos.
- O que esperava, Mauro? Na cidade de Nápoles há duzentos mil homens sem trabalho. Alguns felizardos, como eu, ganham apenas quinhentas liras por dia. Não
podemos pensar em casar. Quem pode manter mulher e filhos com seis xelins ingleses por dia? Não podemos andar com uma moça séria sem fazermos dela nossa fidanzata.
E qual é o pai que promete a filha a um homem que não pode sustentá-la? Ó que nos resta? Aquilo - sacudiu a cinza do cigarro na direção do casino - ou, então,
cinco minutos num canto sombrio com uma moça das ruas. Capisce?
Estremeci como se alguém passasse por cima de meu túmulo.
Compreendia. Compreendia muito bem. A cominência na
expectativa do casamento é uma coisa - bons costumes e boa
ética social. Mas a cominência sem esperança de casamento é uma santidade desoladora ao alcance de poucos, e não certamente dessa fogosa gente da Itália
meridional, que dorme em grupos de dez na mesma cama porque não consegue mais espaço e, mesmo que o conseguisse, não poderia pagá-lo.
Também compreendi algo mais - algo que há muito me intrigava. Quando se anda pelas ruas esconsas de Nápoles, nota-se a ausência de mulheres nas longas filas
de homens e rapazes que dão a sua passeggiata, o passeio da tarde, atropelando-se em redor das vitrines, vagueando pelos bares, cantando, rindo, gritando, discutindo
amigavelmente os últimos resultados esportivos.
Quando se pede uma explicação a eles, respondem com orgulho que o lugar de uma moça séria é em casa com a família ou com ofidanzato. Se sai com um homem,
parte-se do princípio de que não é séria, o que muitas vezes é verdade. O conceito de camaradagem entre os sexos é inconcebível para essa gente.
- Da camaradagem chega-se depressa ao ato - disse-me sucintamente Peppino. - A única salvação para uma moça séria é ficar em casa e esperar por um
bom marido.
- E se não arranja marido? Peppino encolheu os ombros:
- É por isso mesmo que é tão difícil encontrar uma moça séria. Se quisesse casar, o que não posso fazer, eu o faria com tempo, procurando cuidadosamente
antes de ter certeza. Calou-se, puxou-me pela manga e obrigou-me a olhar para o outro lado da praça. - Olhe, Mauro! Ali está outra coisa que deve ver.
Na parede da pequena praça abria-se uma estreita ruela, à entrada da qual se viam três marinheiros de um porta-aviões americano ancorado na baía. Eram jovens,
altos, louros e alegres, e não pareciam embriagados. Um deles transportava embrulhos de papel pardo e os outros tinham pequenas máquinas fotográficas pendentes
do pescoço.
Diante deles dançavam três meninos que pareciam andar pelos cinco ou seis anos, mas que deviam ter dez. Suas vozes agudas e guinchantes ecoavam de um a
outro extremo da pequena praça. Numa mescla de inglês das docas, napolitano e italiano, apregoavam os encantos das moças do casino. Seus gestos evocavam as eternas
obscenidades
da profissão, e as palavras de que se serviam soavam como uma blasfémia nos lábios infantis. Os três marinheiros riam constrangidos, olhando uns para os
outros.
Eram jovens e estavam inquietos, mas as velhas propostas
despertavam-lhes o interesse e a curiosidade. Ficaram hesitantes por momentos, depois tentaram afastar-se.
Os garotos continuavam a dançar à sua volta e gritavam ainda mais ruidosamente. Pareciam cães guiando um rebanho tresmalhado. Sua execução era tão perfeita
que se diria ter sido ensaiada. Dançando, guinchando, puxando pelas mangas e pelos braços, levaram lentamente os marinheiros através da praça, até chegarem quase
de fronte da porta do casino.
Então, como eles hesitassem, o levantino acorreu. Sorriu e apontou para o interior, dizendo qualquer coisa parecida com um discurso encorajador em inglês.
Passados dois minutos, os jovens desfilavam sob a luz do néon e desapareciam. Apenas ficaram os garotos e o levantino de cabelos lustrosos. Falavam tranqüilamente,
com gestos que indicavam cálculos financeiros; depois os garotos foram embora, aparentemente satisfeitos, ao mesmo tempo que o levantino voltava a encostar-se à
ombreira,
palitando os dentes com um fósforo.
Tirei um cigarro. Quando o acendi, as mãos tremiam-me. A cena deixara-me enojado. Ansiava por sair daquela terra e regressar à minha pátria, onde o ar é
puro e as crianças dormem em suas camas, longe da mancha lamacenta do velho mundo.
Peppino observava-me. Seus olhos pretos estavam sombrios.
- Agradou-lhe, Mauro?
- Deixou-me doente. Encolheu os ombros:
- Fiz aquilo muitas vezes, Mauro. Todas as noites. Chegava mesmo a vender os marinheiros a outro que os trazia aqui. Outras vezes, vendia-os a homens que
lhes roubavam a máquina fotográfica e as roupas. Eram coisas bem pagas. Amanhã. . .
- apontou para a porta iluminada - os garotos voltarão aqui e receberão uma percentagem sobre o que os marinheiros pagaram à casa. Não serão enganados.
Háfiducia, confiança mútua, entre eles.
- A confiança da sarjeta.
Peppino aquiesceu gravemente. Sua voz era triste e meiga.
- com certeza, Mauro! com certeza! A confiança da sarjeta. Simplesmente aqui, nos bassi, não temos sarjetas. A imundície corre pelo meio das ruas, onde
as crianças brincam. Como podem deixar de ser atingidas por ela? Pediu-me que lhe mostrasse esta cidade. Digo-lhe que ainda não começou a vê-la nem a compreendê-la.
Antes de nos julgar, a qualquer de nós, espere! Espere e verá!
Olhei para ele e vi que tinha os olhos marejados de lágrimas; seu rosto estava marcado pela miséria que ele próprio tivera de suportar antes de ser libertado
e arrancado da lama para um simulacro de segurança. Sentia-me envergonhado por minha explosão de raiva. Ergui-me e pousei-lhe a mão no ombro,
dizendo:
- Perdoe-me, Peppino. Esperarei. Farei por compreender. Levantou-se e apertou o paletó contra os ombros franzinos.
- Venha então, Mauro. Venha e verá.
Era tarde e sentia fome. Tinha tomado o desjejum e, ao meio-dia, comido fruta e peixe, mas agora a noite já ia em meio e eu estava irritado e morto de fome.
Sugeri a Peppino que fôssemos comer qualquer coisa antes de prosseguirmos no passeio. Rejeitou a sugestão com um seco "Mais tarde! Mais tarde!" Sabia que ele havia
trabalhado doze horas com uma xícara de café e um pedaço de pão duro, de modo que fiquei envergonhado com minha proposta e o acompanhei através do labirinto de congostas
a norte da Via Roma.
Eram pavimentadas com toscos blocos de pedra, cobertas de lama escorregadia, conspurcadas pela água suja despejada das janelas. O lixo amontoava-se diante
das portas e nos cantos malcheirosos, no interior das passagens abobadadas. Esqueléticos gatos de pêlo castanho arrastavam-se silenciosos de um montão para outro
e
bufavam-nos às pernas.
Estávamos cercados por paredes lisas e, erguendo os olhos, eu via as vigas escuras das varandas e os raios de luz que se filtravam pelas persianas corridas.
Muito longe, por cima de nós, distinguia uma estreita faixa de céu e o cintilar de raras e frias estrelas. No alto das paredes asquerosas, viam-se os comornos
de antigos brasões, partidos e mutilados, e, aqui e ali, a forma de antigas grinaldas e querubins de gesso quebrados. Lembrei que nenhum daqueles edifícios tinha
menos
de cem anos e que alguns datavam do tempo dos espanhóis.
Junto a um pórtico arruinado, Peppino parou e empurroume para a sombra. Acendemos um cigarro e ficamos ali fumando e falando em voz baixa.
Do outro lado da ruela havia três portas. Estavam abertas, apesar do frio, e lâmpadas amarelas luziam de forma a podermos ver o interior das divisões. A
primeira era uma pequena oficina de sapateiro onde um homem e dois filhos trabalhavam em suas formas, enquanto uma mulher sentada, com uma garotinha loura no colo,
conversava com eles. À sua retaguarda
via-se outra divisão menor com uma cama de ferro e uma lamparina acesa em frente à imagem de gesso da Madonna.
A porta a seguir dava para um cómodo de habitação. Havia ali uma mulher velhíssima, grisalha, desdentada, deformada por um monte de xales, um casal de meia-idade
e seis crianças, rapazes e moças, entre cinco e dezoito anos. Nove pessoas ao todo! Estavam sentadas em volta de uma mesa, comendo a refeição da noite.
O resto do aposento estava atravancado por uma enorme cama de casal, um aparador e um grande roupeiro, além de um fogão de Agipigas acima do qual se viam penduradas
panelas em fila.
A terceira porta se abria para um quarto estreito com duas pequenas camas e uma mesinha perto da qual uma mãe e três filhas, de treze a dezenove anos, trabalhavam
no que parecia ser um vestido rendado de noiva. Tinham o ar triste e atormentado das pessoas que se esforçam demais, comem de menos e saem raramente.
- Aqueles - disse calmamente Peppino - são os chamados felizardos. Têm trabalho e casa para viver. Poucas vezes passam fome e podem cuidar dos filhos.
Baixei o olhar para a ruela imunda e voltei a fixá-lo no miserável amontoado de quartos onde aqueles mortais afortunados viviam e trabalhavam como forçados
mal pagos.
Olhei para Peppino, perguntando a mim mesmo se estaria troçando de mim. Mas falava sério.
- Mostro-lhe isso para que não pense que todos em Nápoles são maus e desesperados. Aqueles são boa gente e não vivem tão mal assim. Houvesse muitos como
eles e não seríamos tão miseráveis.
- Nove num quarto! Onde dormem?
- Na cama. É grande, como pode ver.
- Todos?
- Que hão de fazer?
- Está certo isso? Velhos e novos, homens e mulheres, casados e solteiros, todos na mesma cama?
- Não, não está certo. Mas é melhor do que as baracche, onde dormem quinze no mesmo quarto. E melhor que as ruínas sem luz, nem calor, nem nada, onde dormem
no chão como animais. É mil vezes melhor do que a rua, onde os scugnizzi dormem à sombra dos arcos, sobre os gradeamentos e debaixo dos carros de fruta. Acredite
que é muito, muito melhor.
Eu acreditava. Até uma criança se teria apercebido disso.
A miséria é uma palavra muito relativa. Se se tem trabalho numa cidade onde existem duzentos mil desempregados, é-se na verdade um felizardo. Se dormem
nove numa cama e não na pedra fria da rua, é motivo para dar graças a Deus por esse benefício. Se os filhos vêm a casa à noite para comer e descansar em vez de disputarem
os restos aos gatos e dormirem nos gradeamentos das padarias, é caso para um pai se considerar feliz. Banheiro, ventilação, banho, água corrente e um tanque
para lavar a roupa - são luxos inacreditáveis em que não se pode pensar sem se dar ares de presunção.
Lembrei-me de minha agradável vivenda de Sorrento, que tem três dormitórios, dois banheiros e um quarto para a empregada, que ganha tanto quanto um pai
de seis filhos.
Pensei nos turistas que visitam Nápoles, Pompéia, Amalfi e Capri, que dormem no Excelsior e comem no Lê Lucciole. E senti-me envergonhado e assustado.
Peppino continuava à espera de que eu falasse. Perguntei-lhe:
- Por que as famílias napolitanas são tão numerosas? Olhou-me surpreendido e encheu de ar o peito com ingênuo orgulho.
- Por que não, Mauro? Somos um povo de sangue quente. Nossas mulheres são muito fecundas. Gostamos de crianças. Por que não haveríamos de tê-las?
Nosso conhecimento ainda era demasiado recente para insistir nesse ponto. Estava interessado noutra linha de pensamento.
- Aquele homem ali. . . - Apontei para a família de nove pessoas. - Os seis são todos filhos dele?
- Claro! Feitos todos na mesma cama. É mestre no ofício. Não me custava acreditar que fosse mestre, se bem que num
sentido diferente daquele que os napolitanos dão à palavra. Disse:
- Acha certo, Peppino, que o ato sexual se realize diante das crianças, das moças e dos rapazes mais velhos, que também já se julgam aptos a proceder como
homens e mulheres?
Peppino franziu as sobrancelhas. Atirou fora a ponta do cigarro e pisou-a. Depois, voltou-se para mim.
- Não, Mauro, não acho certo. Mas é assim que se faz, pois não temos casas, nem quartos, e as pessoas são obrigadas a viver dessa maneira ou a perecer nas
ruas.
Os novos aprendem demasiado cedo. . . e os que já se julgam aptos fazem às vezes o que não deviam com os próprios irmãos e irmãs. É isso, em geral, o que
os leva à rua, rapazes e moças. É isso que os prepara para a rua. . . para as coisas que viu no casino, esta tarde.
Mas como modificar este estado de coisas? Somos um povo pobre. Não temos trabalho, nem onde consegui-lo. Cosafare? Que havemos de fazer?
Cosa fare? Não sabia. Estava cansado e faminto e tinha os pés doloridos por causa dos sapatos. Desejava estar longe de tudo aquilo. Queria esquecer a miséria
antiga do povo de Nápoles e voltar para casa, para minha pátria, ou regressar às ilhas soalheiras onde os turistas riem, bebem e brincam com os cabelos de bem
alimentadas moças.
Apaguei o cigarro na lama e saí da sombra do pórtico.
- Vamos, Peppino. Vamos comer!
- Sim - disse ele -, na Piazza Mercato.
Havia ali um restaurante onde a comida era barata, o vinho bom e a proprietária amiga dele.
A Piazza Mercato, no extremo da cidade, dá para a Strada delia Marina. O caminho mais direto do local onde nos encontrávamos era atravessar a Via Roma, descer
a Via San Felice e alcançar o limite sul do Corso Umberto. Mas isso não interessava a Peppino. Tinha coisas para me mostrar pelo caminho e, além disso, precisávamos
comprar cigarros.
Eu estava disposto a suportar um mínimo indispensável de desconforto nessa peregrinação, mas
continuava obstinadamente fiel ao luxo dos cigarros ingleses.
A maneira mais barata de consegui-los era nos contrabandistas. O tabaco é monopólio do Estado na Itália, e não é grande a variedade de produtos. Além disso, os cigarros
italianos têm o mau hábito de se desfazerem antes de os fumarmos até ao meio. Por isso, iríamos ter com os contrabandistas, apesar da polícia e de nossa consciência.
Atravessamos a Via Roma com suas luzes brilhantes, trânsito ruidoso, homens bem-vestidos e mulheres que dão sua passeggiata ritual, boquiabertos diante
das vitrines das lojas, conversando em pequenos grupos, bebendo minúsculas xícaras de café espresso nos bares em cujas vitrines se amontoavam ovos de Páscoa coloridos.
Eu tinha plena consciência de minha roupa usada, das mãos sujas e da barba por fazer, mas ninguém prestou atenção em mim e, pela primeira vez, escapei às solicitações
dos mendigos e dos vendedores de óculos escuros e postais ilustrados com paisagens.
Em breve voltamos ao clima familiar das vielas sombrias, dos casarões e das tabernas, onde homens esfarrapados se sentam entre as pipas e bebem moderadamente
um vinho puro e capitoso. Um litro de vinho ordinário custa cento e cinqüenta liras e, quando se ganham apenas quinhentas por dia, bebe-se
pouco e não se fuma muito, Quando se vive só e não se tem responsabilidades familiares, a coisa ainda vai, mas quando se é chefe de família não é possível
alimentar vícios.
Era outro aspecto evidente daquela terra pobre, com índice de natalidade elevadíssimo.
Uma catarse que permita esquecer o periódico purgatório das tristezas, dores e lágrimas é fundamental para a natureza humana. Nas terras mais prósperas
e mais evoluídas há vinte maneiras de um homem se divertir e esquecer as agruras cotidianas da vida. Mas aqui, nos bassi de Nápoles, só há duas - as relações sexuais
e os
ritos da Igreja. O letto matrimonio é tão característico da vida napolitana como as igrejas barrocas com seus santos poeirentos e suas grotescas exposições de oferendas
votivas que confundem os próprios católicos das outras partes do mundo.
Enquanto eu pensava nesse problema, Peppino levou-me daquele mar de gente para uma ruela estreita, na direção de um pequeno grupo de homens e mulheres sentados
em cadeiras de vime, à porta das casas.
- Contrabandieri - explicou Peppino, em tom jovial. - Cigarros!
A frente dos vendedores clandestinos estava uma mulher, ainda nova, de rosto arruinado e olhos tristes. Perto dela via-se uma garotinha que
brincava num gasto vestido de algodão. Peppino dirigiu-se a ela e indicou-me a pequena bandeja que segurava no colo. Vi uma dúzia de maços de cigarros americanos,
todos de marcas
conhecidas.
Nenhum ostentava o selo fiscal do governo italiano. Peppino apontou de novo para a bandeja.
- Americani. Ti piacef?
Disse-lhe que não me agradavam. Não gosto dos cigarros americanos. Prefiro o tabaco Virgínia, suave e louro, dos cigarros ingleses.
Peppino perguntou-lhe se tinha alguma marca inglesa. Ela meneou a cabeça e apontou com o polegar por cima do ombro.
- Giu... - Mais abaixo.
Dirigimo-nos aos vendedores indicados. Constituíam um casal, homem e mulher, e as bandejas que seguravam eram maiores e mais bem abastecidas. Ela era uma
gorda e disforme matrona por volta dos cinqüenta anos. Por cima do sujo vestido preto enfiara três blusas esfarrapadas, todas de cor diferente. O homem era baixo,
de rosto ceroso e vesgo. A medida que nos aproximávamos, trocaram entre si um olhar desconfiado.
Uma vez mais meu peso e meu físico traíam minha origem estrangeira.
- Cigarros ingleses? - perguntou Peppino.
A mulher inclinou-se para a bandeja, mas não falou. Vi meia dúzia de boas marcas inglesas, todas com o selo de celofane intato. Escolhi dois maços.
- Quanto é? - perguntou Peppino.
- Duzentas e cinqüenta liras cada um.
Eram cem liras abaixo do preço oficial de vinte cigarros. Peppino aquiesceu, e eu paguei as quinhentas liras.
- Quem é? - perguntou o homem, apontando para mim o polegar, embora um dos olhos parecesse observar atentamente na direção oposta.
- Trentino - respondeu rápido Peppino. - Tem problemas com a polícia.
Era uma história que havíamos imaginado para explicar meu físico, meu mutismo e minha presença nos bassi de Nápoles.
O homem meneou a cabeça num gesto de compreensão. Depois, uma idéia pareceu assaltá-lo. Meteu a mão no bolso e tirou um pequeno embrulho. Quando o abriu,
vi que continha três preservativos, cada qual em seu invólucro de plástico.
Ofereceu-me, mas Peppino afastou-o com brusquidão. Dei um passo em frente e retive o braço de meu companheiro. Tinha razões pessoais para estar interessado
na proposta.
- Quanto? - perguntei. - Quanto por cada um?
- Cinqüenta liras.
- Cada um?
- Claro! Cento e cinqüenta os três.
Meneei negativamente a cabeça. Ele encolheu os ombros e voltou a meter o embrulho no bolso. Era seu último preço. Não havia tempo para regatear. O gesto
interessou-me:
dava-me a estatística de que precisava. Mas o negócio ainda não tinha terminado. Havia outros produtos para oferecer.
- Quer uma linda moça? Limpa e experiente?
- Onde está?
- A moça?
- Claro.
Apontou para o extremo da rua.
- Ali embaixo. É só chamá-la que ela virá logo.
- Para onde iríamos?
Dessa vez, apontou por cima do ombro para a porta aberta que ficava à sua retaguarda. Olhei e vi o habitual amontoado
de móveis, a cama enorme e a lamparina que ardia em frente de um óleo grosseiro representando San Gennaro. Perguntei:
- A quem pertence? Olhou-me intrigado.
- A moça?
- Não, o quarto.
Seu rosto voltou a sorrir.
- O quarto é nosso. Pode ficar com ele por uma ou duas horas, o tempo que quiser. É limpo e sossegado.
De novo recusei. De novo ele encolheu os ombros e se inclinou para a bandeja. O comércio terminara. Já nada tínhamos a dizer. Peppino e eu demos meia-volta
e dirigimo-nos para a Piazza Mercato.
Enquanto caminhávamos, Peppino explicava-me como aqueles contrabandistas conseguiam a mercadoria. Tinha trabalhado para eles, e suas informações eram exatas.
Os cigarros vinham dos barcos, dizia. Eram atirados ao mar em sacos de plástico e apanhados por pescadores que os levavam ao porto, onde os
contatos os recebiam
para distribuí-los em seguida pelos depósitos clandestinos das ruelas. Às vezes, subornavam os funcionários das docas, e estes fechavam os olhos quando os marinheiros
vinham a terra com malas de viagem cheias. Os vendedores ambulantes recebiam uma percentagem sobre a venda, paga pelos distribuidores.
Estava a polícia a par do negócio? Sicuro! A polícia sabia, mas enquanto aquele comércio continuasse nas ruas esconsas estava disposta a deixá-lo florescer.
De vez em quando uma batida a um dos principais traficantes; afinal, os policiais são napolitanos e compreendem, também, que o povo precisa viver. E se a lei não
deixa margem para ganhar um bocado de pão, é forçoso que os que devem fazer cumpri-la consintam nesses
desvios.
Aquiesci resmungando e deixei morrer o assunto. Ruminava outros pensamentos e ainda não confiava bastante em Peppino para desvendá-los a ele. Mais tarde,
quando o vim a conhecer melhor, quando eu próprio me acalmei, foi-nos possível falar com franqueza e sem rancor. Naquela altura, porém, mal nos conhecíamos, e
eu sentia-me cansado e de mau humor.
Nosso breve contato com os vendedores de cigarros pôsme frente a frente com dois fatos que nunca deixaram de me atormentar no decurso de minhas investigações
em Nápoles. O primeiro era a incrível venalidade dos italianos do Mezzogiorno. Nota-se isso nos mais humildes representantes das ruelas, os alcoviteiros e
os contrabandistas.
Todos os turistas têm de suportá-la quando o guia se oferece - mediante uma gorjeta para mostrar às senhoras as pinturas pornográficas de Pompéia, ou quando
os guardas do Museu de Nápoles os levam para um canto tranqüilo onde podem fotografar certas obras de arte. Ela segue-nos até a península de Sorrento onde, nas lojas
de "lembranças", o turista paga o dobro do valor por objetos executados nos bassi por salários de fome. A mais simples transação, tal como alugar uma vivenda para
as férias,
implica falsas declarações, a fim de evitar ao proprietário pagar o imposto de aluguel. Dessa forma, uma pessoa pode encontrar-se, não sem espanto, registrada como
parente de uma das maiores famílias do distrito. Ignoro o que essa família ganha com o negócio, mas não há redução na renda nem no custo de vida.
Nos meios mais elevados da política, da diplomacia e das finanças, essa venalidade prospera como uma vegetação luxuriante que envenena a terra, tornando
impossível qualquer reforma ou transação honesta. Eu iria aprender mais, muito mais, à medida que os dias fossem passando: luvas para obter boas notas num concurso
competitivo, luvas para bolsos particulares, todas as maquinações mesquinhas que mantêm o povo do sul da Itália num nível precário de vida, sem esperanças de melhoria.
A pobreza está em sua origem. A pobreza e o medo que nasce da pobreza, e também a longa história de opressão e especulação por parte dos conquistadores.
O criado está corrompido pela corrupção dos patrões - e os espanhóis, os Bourbons e os exércitos aliados não foram modelos de virtudes. Como não o são os
que governam a Itália de hoje. O povo dos bassi vive tão fechado na fome e na morte que não pode dispensar um pensamento sequer à moralidade de um ato que lhes dá
pão.
O segundo fato, sempre presente, era o extraordinário índice de natalidade no sul da Itália. A cidade de Nápoles fervilha de crianças, desde os bebês aos
adolescentes de dezoito anos. As causas são muitas: fecundidade natural, superpovoamento, desemprego, ignorância, timidez de muitos padres sulistas que, mesmo no
confessionário,
receiam informar o povo da versão autorizada do controle de nascimentos graças a uma abstinência periódica.
Mesmo rejeitando o ensinamento moral da Igreja Católica sobre as medidas anticoncepcionais e propondo limitações artificiais familiares, os remédios não
são tão simples como pode parecer ao teórico que vive num país altamente evoluído, com uma quantidade suficiente de empregos para ambos os sexos.
Segundo as estatísticas dos bassi, um preservativo custa no mercado negro tanto como uma fatia de pão. As aplicações e soluções anticoncepcionais reservadas
às mulheres são muito mais caras - admitindo que haja médicos que recomendem seu uso. No Mezzogiorno não há um único - como vim a saber depois. Além disso, mesmo
os
métodos mais simples requerem um mínimo de isolamento para serem aplicados. Quando dormem dez numa cama, sem banheiro nem privada pelo menos, a situação torna-se
impossível.
Quanto mais pensava nisso, mais compaixão sentia por aquele povo que se agarra com tanto desespero a uma vida que nada lhe oferece, a não ser trabalho e
medo, e que gera filhos para as multiformes corrupções da rua.
Chegamos, finalmente, à Piazza Mercato e, insinuando-nos através das barracas dos vendedores, alcançamos a porta aberta do restaurante. Quando nos preparávamos
para entrar, vi uma velha imunda e esfarrapada, sentada de costas contra a parede, estendendo a mão à caridade. Um dos olhos estava inteiramente afetado por uma
catarata, e as pernas haviam sido amputadas no joelho. A seu lado via-se um montinho de moedas de cinco a dez liras - as esmolas dos pobres.
Peppino procurou nos bolsos uma moeda, e eu fiz o mesmo. A velha nem sequer esboçou um gesto de agradecimento, antes prosseguiu no seu monótono lamento.
Um grupo de garotos entre cinco e dez anos jogava bola no meio dos carrinhos de mão. Um deles tropeçou nas pernas da mendiga, que se pôs a amaldiçoá-lo por entre
dentes.
No interior do restaurante havia mais claridade, e a atmosfera estava aquecida graças ao forno em que alourava a pizza, e o molho de tomate borbulhava e
engrossava num caldeirão. O cozinheiro, encostado à parede, limpava o rosto num avental sebento. O garçom de olhos cansados debruçava-se na caixa e conversava com
a padrona, uma montanha de carne comprimida num vestido preto.
Havia meia dúzia de clientes sentados às mesas sebentas, servindo-se de pasta, sorvendo o caldo ou apreciando o puro vinho tinto tirado das pipas ao lado
da porta.
Todos nos observavam com aquela expressão especulativa própria dos napolitanos. Uma vez mais, fui reconhecido como estrangeiro. Mantive os olhos no prato,
falando em voz baixa com Peppino.
Um dos comensais despertou minha curiosidade. Tinha cerca de trinta e cinco anos, feições finas, bem modeladas, de romano. O cabelo e as mãos estavam bem
tratados. O terno era novo e os sapatos brilhavam. Apesar disso, fora comer naquele restaurante sujo, freqüentado por vendedores ambulantes e prostitutas. Indiquei-o
a Peppino.
Sorriu com a boca cheia de pizza:
- Há atualmente muitos como ele em Nápoles, Mauro. É um pequeno empregado. . . talvez num hotel, numa agência de turismo, ou então um vendedor de uma das
grandes empresas industriais do norte. com um pouco de sorte, chega a ganhar quarenta mil liras por mês, mas tem de se vestir como se ganhasse cento e quarenta
mil. Aquele terno é provavelmente o único que possui, e todos os domingos tem de limpá-lo e passálo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. . . e efetivamente
é, para ele. Mas para se manter vivo e ter dinheiro suficiente para transportar-se e para pagar uma xícara de café aos clientes, tem de vir comer aqui, com os pobres.
Eu tinha uma idéia acerca do custo da roupa na Itália, desde que um acidente náutico me arruinara uma calça e um blusão. Mais por curiosidade do que pelo
desejo de possuir um casaco de couro e uma calça sem bainha, tinha ido informarme em uma casa comercial. Um casaco comum iria custar-me treze mil liras; uma calça,
sete mil; um sapato de qualidade modesta, seis mil. Juntando-lhes os outros artigos - meias, camisa, roupa de baixo, lenço de bolso e gravata -, o total ultrapassava
o ordenado de um mês. Um sobretudo de qualidade inferior e outro jogo de roupa de muda devorariam mais um ordenado do pequeno empregado que, por isso, tem
de se agüentar com uma única ao longo dos trezentos dias de trabalho anual.
"Não pode ser!", dirá alguém.
Na verdade, não pode ser; mas é a realidade, para centenas de milhares de empregados do comércio, na Itália de hoje. Conseguem-no graças a uma instituição
de beneficência chamada cambiale. As cambiali são, na realidade, notas promissórias. Sempre que ia a uma pequena filial do Banco de Nápoles receber um cheque de
viagem
ou depositar um vale na minha
conta, via dúzias de pessoas, homens e mulheres, assinando ou amortizando esses pérfidos papéis.
O pequeno empregado precisa de um terno novo. Assina uma promissória, que expira daí a dois meses. Como a penalidade por falta de pagamento é o seqüestro
dos bens e uma visita à questura, ele economiza, poupa e vive num tormento diário para poder efetuar o pagamento na data marcada. Se houver uma doença em casa ou
se um dos filhos necessitar de roupas para ir à escola ou de livros novos, ele assinará mais cambiali. Entre os juros e a acumulação dos empréstimos, acaba por contrair
uma dívida que nunca mais conseguirá liquidar. Sua posição social não lhe oferece vantagem alguma. Na verdade, viverá pior do que os trabalhadores dos bassi
que, ao menos, conseguem comer e não estão à mercê dos caprichos de um superior ou da maldade de um colega rival.
A voz de Peppino interrompeu o curso de meus pensamentos.
- Não come, Mauro?
Tinha seu prato vazio e saboreava lentamente o resto do vinho. Eu mal havia tocado na comida. A pizza estava fria, e seu aspecto pastoso agoniou-me. Encolhi
os ombros, afastei o prato e bebi o vinho de um trago.
- Não tenho fome, Peppino. Por esta noite chega. Vamos embora.
Levantamo-nos, passamos pela caixa e, enquanto Peppino pagava a conta, fiquei à porta olhando para a ruela apinhada de gente. Os vendedores
continuavam a apregoar seus produtos, embora já fossem onze horas da noite.
A mendiga continuava a pedir esmola, e os meninos ainda jogavam bola por entre os carros de mão.
De repente, como a um sinal, detiveram-se e desceram rapidamente até o extremo da ruela. Apenas um se deixou ficar. Vi-o baixar-se até o nível da mendiga.
Depois, com um movimento brusco, curvou-se no chão, juntou o mísero produto das esmolas e desatou a correr como vento, por entre os carrinhos, perdendo-se no labirinto
das vielas, no extremo da rua.
A velha pôs-se a gritar, sendo seguida pelos vendedores, enquanto eu permanecia à porta, doente de indignação e desgosto. Os bassi de Nápoles são uma selva
onde apenas os mais fortes, os mais espertos e de pé ligeiro conseguem sobreviver.
Peppino pousou-me a mão no braço e levou-me dali para fora.
- Scugnizzi, Mauro. Garotos de Nápoles. Também precisam viver. Vamos embora!
Procurei no bolso e descobri uma nota de mil liras que meti na mão da desolada velha. Ela agarrou-a e escondeu-a entre os farrapos que lhe cobriam o peito.
Peppino e eu afastamonos ao longo da lama, do lixo e dos restos podres de vegetais.
A voz da mendiga perseguia-nos como uma maldição.
Capítulo segundo
Todas as manhãs, durante minha permanência em Nápoles, ia passear em um minúsculo parque no extremo da Via Santa Teresa. Ali, sentado num banco de pedra,
ao sol, classificava minhas notas, os fatos e os números que havia colecionado na véspera.
Fatos, tinha-os em abundância. Quanto aos números, o problema era muito diverso. As estatísticas oficiais italianas são freqüentemente deturpadas e sempre
incertas.
É um país que depende do auxílio da América para sobreviver. Todos os banqueiros gostam de ver uma
contabilidade em ordem, e os cálculos, na Itália, são
forjados com freqüência.
Aqui no sul há vinte razões adicionais para esse forjamento - algumas das quais espero poder explicitar neste capítulo.
A questão do desemprego, por exemplo.
As estatísticas oficiais declaram cento e cinqüenta e um mil desempregados em Nápoles. A meu ver, após semanas de inquérito, o número ultrapassa os duzentos
mil.
Qual o motivo? Os dados oficiais não tomam em consideração os trabalhadores eventuais, os de estação ou os que têm menos de dezoito anos, muitos dos quais
deixaram a escola antes dos doze a fim de contribuírem, de uma maneira ou de outra, para o sustento da família. Por outro lado, se um homem traz consigo um cartão
profissional intitulando-o barbeiro, fotógrafo ambulante ou carpinteiro, é, ipso facto, considerado trabalhador. Tem uma profissão. Por que não a exerce? Só lhe
é possível
receber um subsídio de desemprego depois de apresentar provas irrefutáveis de condições de miséria - e, mesmo assim, não será inscrito entre os desempregados.
Quando um garoto deixa a escola - se é que a freqüenta
- começa a trabalhar aos dez ou onze anos. Pagam-lhe entre trezentas e quatrocentas liras por dia, na qualidade de aprendiz,
e antes de completar dezoito anos é despedido e vê-se, de novo, no mercado do trabalho, conhecendo mal o ofício e sem nenhuma esperança no futuro.
Os números referentes à educação também são muito significativos. A lei italiana estipula a freqüência escolar até os dezesseis anos. No entanto, há cinqüenta
mil crianças em Nápoles que não têm a mínima possibilidade de receber instrução, porque não há escolas suficientes nem professores que cheguem.
Cinqüenta mil analfabetos por ano numa cidade européia de dois milhões é um quadro horrível. Mas os fatos reais ainda são piores. Há tão poucas escolas
em Nápoles que o período se limita a duas ou três horas por dia, mesmo para aqueles que freqüentam o ensino primário. Em certas áreas, freqüentam a escola três horas
por dia, de dois em dois dias.
A obrigatoriedade da freqüência escolar é portanto impossível, e em todas as ruas e vielas de Nápoles se vêem crianças em idade escolar que vagabundeiam
sujas, maltrapilhas, ou que trabalham nas lojas e oficinas para acrescentar ao orçamento da família uma migalha diária.
Há ainda outras estatísticas, bastante terríveis pelo que revelam, mas absolutamente horrorosas no que escondem.
Há segundo os dados oficiais sete mil famílias napolitanas em barracas (baracche ou tuguri). Essas barracas elevam-se nos terrenos de edifícios destruídos
pelas bombas ou no interior de apartamentos arruinados, ou mesmo em grutas cavadas na rocha. Calculando as barracas familiares à média napolitana normal de oito
pessoas cada uma, são cinqüenta e seis mil os que vivem em condições idênticas às das mais miseráveis cidades do Oriente.
Eu estive lá, vi-as. Durante três noites não fiz outra coisa senão andar em volta das baracche com Peppino. Vi quinze pessoas numa delas, dormindo sob farrapos
no chão de terra. Os homens não conseguem arranjar trabalho, de forma que passam os dias apanhando guimbas que vendem às fábricas clandestinas a cem liras
o quilograma.
Tente-se calcular quantas guimbas são necessárias para conseguir um quilograma de tabaco. O total será surpreendente.
À noite, as mulheres saem e vendem-se pelas ruas, enquanto as crianças palmilham a Piazza Mercato em busca de comida. Cinqüenta e seis mil pessoas vivem
assim, de acordo com as estatísticas.
Mas aqueles que vivem juntos em grupos de dez num quarto, nas vielas dos bassi, não figuram na lista. Têm casa com luz
e, às vezes, água. Não estão aptos a engrossar as fileiras dos moradores das barracas.
Números! Números! Números! Como extrair números da monótona litania das misérias de Nápoles? Sentei-me no pequeno banco de pedra, fumei um cigarro de contrabando
e li o relatório apresentado em Roma pelo ministro da Fazenda, Adone Zoli. Estava datado de 23 de março de 1956, e o ministro Zoli mostrava-se otimista.
Dava-se conta dos progressos significativos da economia italiana.
A receita nacional aumentara em 7,2 por cento. Mas, em Nápoles, trinta e um mil trabalhadores tinham sido despedidos durante o inverno.
Empresas particulares anunciaram um aumento de 8,5 por cento nos seus lucros. Em Nápoles, porém, um trabalhador não especializado devia dar-se por feliz
se conseguia ganhar quinhentas liras por dia.
A produção agrícola era 22,4 por cento superior à de antes da guerra, e o custo de vida subira apenas 3 por cento. Mas o azeite, principal gênero alimentício
desse povo, custava novecentas liras o litro, tendo aumentado 50 por cento, e os legumes e as frutas quase duplicaram de preço em relação ao ano anterior.
Números! Números! Números! Mentiras, mentiras malditas e estatísticas. . . e todas me dizem menos acerca das condições desta cidade do que aquilo que vi
com os próprios olhos. Guardei as notas no bolso interno do casaco, deixei o ministro Zoli no banco de pedra e fui dar meu passeio cotidiano pela cidade.
Nessa manhã, tinha um encontro marcado - tomar um café na Galleria com um homem que tinha uma história para mim. Tirei informações por intermédio de uns
amigos.
Honesto e respeitado, era até bem conhecido por muitos visitantes que se deslocam a Nápoles, às ilhas soalheiras e aos centros turísticos da península de
Sorrento.
Dizer mais do que isso seria uma indiscrição e uma deslealdade.
Enquanto estivemos sentados a uma mesinha de vime entre os homens de negócios conflituosos e tagarelas da Galleria,
contou-me sua história. Dizia respeito
às operações de uma agência do governo italiano, através da qual fundos americanos e concessões governamentais são canalizados para apoiar a economia empobrecida
do
sul. Seu objetivo é conceder fundos aos capitalistas italianos dispostos a realizar ali seus projetos e a proporcionar trabalho aos milhares de míseros proletários
do Mezzogiorno. Até aqui tudo estava
bem.
Meu informante era proprietário. Possuía e dirigia uma pensão de primeira classe, num centro turístico. Queria construir um restaurante que pudesse empregar
o maior número de naturais e alojar o maior número de turistas espalhados pela região. Era um projeto razoável. A construção daria emprego aos operários locais,
e o restaurante necessitaria de mais empregados. Além disso, mais turistas significava melhor negócio para os lojistas e fazendeiros.
Antes de fazer seu pedido oficial de empréstimo, fora a Roma e discutira o projeto com os funcionários da agência. A reação deles encorajara-o. Podia apresentar
o requerimento e ter certeza de uma resposta favorável.
Pois bem! Enviou o requerimento. Na época devida, chegaram um perito financeiro e um engenheiro civil. Examinaram a planta com minucioso cuidado.
bom. Apresentariam um relatório favorável. O resto era a rotina habitual.
Um mês mais tarde chegava o senhor X.
O senhor X era entroncado, afável e jovial. Tinha sotaque romano e guiava um Isotta do último tipo. Fora para o sul em busca de sol. Queria um quarto com
vista para a baía. Conseguiuo. Ficou três dias e depois solicitou uma entrevista com meu amigo proprietário.
Fecharam-se no escritório da pensão, e o senhor X pôs as cartas na mesa. Disse que trabalhava por
conta da agência. Não oficialmente, claro, mas na qualidade
de consultor jurídico e financeiro.
Meu amigo aquiesceu com ar satisfeito. Suas relações com a agência tinham sido, até então, mais do que cordiais.
O senhor X também aquiesceu. A agência estava ansiosa por fazer tudo o que pudesse pelos proprietários daquela região. Era seu dever. Contudo. . .
"Contudo. . . "
"Contudo", disse o senhor X, "há muitos pedidos de capitais, há muitos interesses em conflito. Para receber os fundos necessários a tempo de ter o edifício
pronto para a próxima estação, seria conveniente uma pequena. . . "
Nesse ponto, o senhor X esfregou o polegar no indicador, no velho gesto do intermediário napolitano.
"Quanto?", perguntou meu amigo com firmeza.
"Dez por cento do total do empréstimo, pago adiantado. . . em dinheiro."
Meu amigo ficou surpreso. Era napolitano e, além disso, hoteleiro. Compreendia os requintes da extorsão e da fraude. Mas não podia aceitar aquela proposta.
Observou que àquele juro o dinheiro lhe custaria dezessete por cento. . . um juro normal de banco. A única vantagem em conseguir um empréstimo da agência era precisamente
o baixo juro a pagar sobre o capital. O senhor X encolheu os ombros. Se o outro não arranjasse o dinheiro não poderia construir o restaurante. Tinha de
se decidir.
Meu amigo manifestou outra objeção: pagaria os dez por cento e nunca receberia o capital. O senhor X voltou a encolher os ombros. O risco estava ali, real,
mas nessas coisas era preciso fiducia. - confiança mútua. É impossível fazer negócios sem fiducia - non e vero?. . .
Nosso proprietário aquiesceu com ar infeliz. Parecia-lhe difícil fazer negócio de outra maneira. O senhor X concedeu-lhe um prazo para refletir. Ficaria
mais um dia, ou até dois. Iria distrair-se com uma visita a Capri, o que realmente fez.
Durante sua ausência, meu amigo aconselhou-se com seus colegas banqueiros, advogados, funcionários públicos. Todos foram de opinião que não devia pagar.
Não por considerações morais, note-se, mas pelo perigo de perder o dinheiro. Quando lhe perguntei por que não concordara, por exemplo, em fazer o pagamento diante
de testemunhas da polícia e mandar, em seguida, prender o senhor X, encolheu os ombros: eu não compreendia como as coisas se faziam na Itália. Provavelmente o senhor
X
era um intermediário autêntico e, se fosse preso, se tornaria desde logo impossível conseguir cimento, pedra e outros materiais de construção. Capisce?
Eu compreendia. Era apenas outro aspecto da corrupção da vida comercial e política da Itália de hoje. Além disso, queria ouvir o resto da história, que
parecia interessante.
Quando meu amigo recusou a proposta, o senhor X sorriu com ar complacente, pagou a
conta e foi-se embora. Depois de sua partida, nosso proprietário fez tudo
para contrair um empréstimo. Claro que não lhe era difícil arranjar o dinheiro; porém, com o sistema de juros em vigor, o custo estaria acima de dezessete por
cento, mesmo se o conseguisse no Banco de Nápoles. Encontrava-se entre a cruz e a espada.
Três meses mais tarde, o senhor X estava de volta, ao volante do mesmo carro e com o mesmo largo sorriso. Sua
primeira pergunta tinha sabor napolitano, apesar do sotaque romano:
"Continua enrascado?"
"Continuo."
"Então, por que não paga como homem sensato e acaba com isso? Garanto-lhe que arranjarei o dinheiro dentro de um mês."
"Não!"
Até um proprietário de restaurante de província pode usar de má-fé. O senhor X sorriu e despediu-se. Meu amigo voltou a escrever à agência a propósito do
empréstimo.
Nada conseguiu.
Quando finalmente conseguiu construir o restaurante, foi com capital particular de um velho amigo de Salerno. A agência devia, sem dúvida, empregar o dinheiro
em causas mais rendosas - tais como as sete mil famílias que apodreciam nas barracas ou as cinqüenta mil crianças que não podiam ir à escola.
Quero ser imparcial neste ponto. Em qualquer país do mundo se ouvem histórias como esta. Investiga-se o intermediário e sua idoneidade. Tenta-se segui-lo
através das respectivas administrações e fica-se atolado num pântano de declarações contraditórias e documentação equívoca. Na Itália,
contudo, essas histórias abundam
como anedotas de taberna. São um sintoma do clima social. Refletem profunda desconfiança na administração pública. São fonte de cinismo e abrem o caminho à corrupção
nas altas e baixas camadas sociais. O contato pago e o intermediário a dez por cento são personagens clássicas da comédia política, e a lama em que chafurdam
suja as mãos de honestos administradores.
No caso de me julgarem com idéias preconcebidas, eis um post scriptum de um antigo ministro italiano, acerca do funcionamento de um organismo governamental
oficialmente chamado Cassa per il Mezzogiorno, ou seja, Fundo para o Sul, e que ele enviou a um Congresso do Rotary Club de Roma, em 8 de abril de 1956:
"Após um minucioso estudo do que acontece a essas centenas de milhões de fundos, só há uma conclusão possível: a Cassa dei Mezzogiorno é, na realidade, a
Cassa dei Settentrione".
O sabor do trocadilho perde-se na nossa língua - mas o significado é bastante claro. A Cassa foi criada para financiar o arruinado sul. Seus fundos têm
sido distribuídos para apoiar os industriais do norte.
Quantos? De acordo com o ministro Corbino - que o deve saber - cerca de setenta por cento.
Sentado ali entre a azáfama e o pó da Galleria Umberto, bebendo um café amargo, vendo passar as moças e os esfarrapados homenzinhos de negócios, observando
as vitrines
das lojas repletas de objetos de arte que ninguém compra, sentia-me tomado de raiva desesperada. Estava irritado com meu amigo. Estava irritado comigo mesmo
por
me ter imiscuído nos assuntos daquele antigo, obsoleto e desnorteado país, onde os homens se deixam comprar, as mulheres se vendem e as crianças estão condenadas
desde o nascimento.
As crianças? Não eram meus filhos. Não eram filhos de minha pátria. Não eram filhos da América. Pertenciam àqueles italianos meridionais que se burlavam,
extorquiam
e oprimiam uns aos outros, que fechavam o coração e os bolsos ao grito que sobe dos negros abismos dos bassi.
E um povo católico, como eu, embora sua ética social seja tão pagã como a de Pompéia ou a da Roma de Tibério. Há séculos os escravos foram libertos. Mas
o homem
continua a ser escravo se o forçam a viver na mais extrema miséria, aterrorizado pelos caprichos de um patrão ou de um gerente, sem a menor esperança de
vir a tomar
parte nos frutos de seu trabalho ou a melhorar a sorte dos filhos.
Então, uma terrível verdade despertou em mim. Aquela pobreza, aquele desespero, aquele terror corrosivo são, em parte, uma relíquia da história e, em parte,
resultam
de condições económicas - mas sobretudo são qualquer coisa de calculado e organizado.
A riqueza da Itália - há riqueza na Itália, não se esqueça
- está concentrada em pouquíssimas mãos; nas mãos da aristocracia romana, nas dos grandes industriais do norte, nas de certas famílias de proprietários
do sul.
O principal objetivo dessa gente é proteger sua riqueza, aumentá-la e, tanto quanto possível, aplicá-la depois em investimentos no estrangeiro. O inquérito
Kefauver
revelou fundos italianos consideráveis em bancos americanos. Meu inquérito em Nápoles revelou como esses fundos são enviados para fora do país, num desafio
à lei
e a todos os princípios de justiça social. Uma média permanente de desemprego traz vantagem a essa gente. Mantém baixo o custo da mão-de-obra e impede a
agitação
com vista a condições melhores. Uma área permanentemente deprimida é garantia de negócio constante com as potências ocidentais, sobretudo com a América,
que,
devido ao
medo do comunismo europeu, se torna vulnerável em especial a esses assaltos anuais a sua bolsa. Fundos americanos chovem anualmente na Itália para fornecer
com
pouca despesa um capital de circulação importante aos financistas italianos; mas, pelo menos no sul, apenas uma ínfima parte desse dinheiro chega até o
povo a que
se destina - os pobres, os desempregados, as crianças. Há um ditado no sul que diz que o dinheiro americano se limita a uma viagem de ida e volta - chega
à Itália
para sair de novo, indo aumentar os fundos depositados nos bancos
americanos.
Esse medo do comunismo é também explorado de outras maneiras. Quando uma voz se levanta contra a corrupção política e a injustiça social, o orador é alcunhado
de
comunista e corre o risco de ser demitido. Os enunciados dos mais elementares princípios democráticos, que fazem parte do dia-a-dia na Austrália e na América,
provocam
clamores contra a "reação" e o "marxismo" nas colunas de uma imprensa fiscalizada e partidária.
No sul, não são apenas os industriais e os políticos os culpados, mas também a Igreja. A educação eclesiástica desenvolve-se com um século de atraso. O ensino
nos
seminários é quimérico e reacionário, e as repetidas proclamações de quatro papas ainda não penetraram nas poeirentas salas de aula do Mezzo-
giorno.
Homens como don Ginocchi e o padre Borelli são fenómenos quase miraculosos, e sua vida é uma batalha diária para obter fundos, para encorajar e conseguir
o auxílio
constante da hierarquia e das autoridades civis. É a esses homens e a outros da mesma têmpera que se deve prestar ajuda, pois só por meio deles ela chegará
ao povo
a que se destina.
Despedi-me de meu pequeno proprietário de restaurante e deixei-o ainda em luta com seus problemas, entre os tagarelas da Galleria. A Via Roma regurgitava
de pessoas,
e o trânsito era terrivelmente barulhento. Nessa cidade-fornngueiro sentime um pouco como Diógenes à procura de um homem honesto. E senti pena do velho
filósofo,
que falhara em sua tarefa.
Dúzias de histórias de fraudes e corrupção chegaram a meu conhecimento nas semanas de inquérito de que resultou este livro. As histórias em si são menos
importantes
do que o clima em que se geram. Há fraudes em todos os países: Irrompem esporadicamente como as espinhas na primavera; mas a saúde do corpo político não
é muito
afetada.
Na Itália, o caso é diferente. A doença está espalhada. Toda a sociedade a contraiu. Todos falam dela - mas ainda ninguém descobriu o remédio específico.
A vida
social e comercial da Itália é uma fraude gigantesca na qual a confiança mútua e o esforço desinteressado se tornam impossíveis para todos, a não ser que
se seja
herói.
Entre os bons amigos que fiz na Itália contam-se dois jornalistas de Castellammare. Castellammare é uma cidade industrial de sessenta mil habitantes. Fica
a meio
caminho entre Nápoles e o extremo da península de Sorrento, no sopé do alto pico do monte Faito. Há oito mil desempregados porque os estaleiros trabalham
com lentidão
e as fábricas de conservas só fornecem trabalho nas épocas próprias. Em certos bairros as condições são tão más como as das baracche de Nápoles. Os rapazes
acompanharam-me
nas visitas. Consagraram-me algumas horas de seu tempo, desenterrando fatos, contrabalançando minhas primeiras impressões com novos pormenores acerca dos
complexos
trabalhos da administração e das indústrias locais. Sempre que me encontrava em Sorrento, iam à minha casa e conversávamos até uma hora da manhã. Não apenas
estavam
bem informados, como me prestavam esclarecimentos preciosos quanto aos fatos que eu já conhecia e às conclusões a que
havia chegado.
Uma coisa notei: era impossível discutir com eles, ou com qualquer outro italiano, a mais simples situação econômica sem que aludissem constantemente às
facções
partidárias e aos conflitos políticos. Surpreendia-os o fato de eu não tencionar incluir neste livro um estudo acerca da confusão política na Itália. A única maneira
de conseguir qualquer coisa no país, diziam, era jogar com a corrupção, servir-se da influência partidária. . . Até as melhores coisas tinham de ser feitas
assim.
Quando observei que o único propósito deste livro era mostrar a obra de um só homem, graças à fé, esperança e caridade, sem recurso à política, encolheram
os ombros
e sorriram constrangidos. Como muitos jovens intelectuais italianos, eram violentamente anticlericais, e para eles nada de
bom podia vir de Nazaré.
Tentei outro caminho: contei-lhes como, na minha cidade natal, jovens membros da Câmara de Comércio - de todas as religiões e partidos - tinham construído
com seu
próprio dinheiro ';.. e trabalhando nos fins de semana um asilo para cinqüenta velhos, e se tinham comprometido a mantê-lo em funcionamento.
Meus amigos concordaram que era uma boa obra - uma obra sem intervenção política. Mas na Itália isso seria impossível. Eu não estava disposto a aceitar
a opinião
deles. Que seria preciso para começar? Terreno. Era possível comprar um terreno adequado em Castellammare? Sem dúvida. Por quanto? dois milhões de liras.
Não seria
possível encontrar duzentos cidadãos da cidade que contribuíssem com dez mil liras cada um (menos de vinte dólares)? Claro que sim. Havendo tantos desempregados
em Castellammare, não seria possível alistar voluntários que ajudassem a fazer as fundações, assentar a pedra, etc.?
Não. Seria quase impossível. Os organizadores passariam por revolucionários de perigosa influência. Suas carreiras ficariam arruinadas e eles próprios,
desempregados.
Custava-me engolir aquilo. Trabalho voluntário para uma obra social, ajuda para dar abrigo a velhos e crianças: eram os primeiros degraus na reforma social.
- D'accordo! - exclamaram meus dois amigos com convicção.
Em vez de se gastarem milhões de palavras em cento e quarenta e dois diários acerca daquilo que o governo e os partidos não haviam conseguido realizar,
por que não
demonstrar concretamente o que era possível fazer com boa vontade e coragem? De novo se mostraram sinceramente d'accordo, exceto no que dizia respeito a
eles próprios,
pois perderiam com certeza o emprego, um como correspondente e o outro como redator de um jornal local. Era quase certo que seriam presos e acusados, como
o fora
Danilo Dolci, de perturbar a ordem pública, e o asilo nunca seria construído.
Estava abalado, mas ainda não queria dar-me por vencido. Fiz notar que há cinco anos, em Nápoles, o padre Borelli fundara, sem nada, uma instituição para
recolher
o refugo das ruas. Sublinhei que o único propósito deste livro era descrever as circunstâncias que originaram essa necessidade e o esforço heróico de um
homem para
enfrentá-la. Se Borelli conseguira, por que não o seguiriam eles?
Sorriram. Um observou que Borelli era padre, o que simplificava um pouco as coisas. Não perderia o emprego. Sería chamado à ordem, mas não lhe faltaria o
que comer.
O outro refutou esses argumentos. Mauro tinha razão. Borelli começara sem nada e realizara sua obra. Fizera muito pelos scugnizzi. Era um homem excepcional
e um
padre extraordinário. Mas mesmo agora, ao fim de cinco anos, com a aprovação da Igreja
e esporádicas dádivas das autoridades governamentais, ainda tinha de vender sucata e roupas usadas para dar de comer a seus garotos.
Não havia resposta para aquilo. Eu o sabia. Observara-o com meus próprios olhos.
Dez minutos mais tarde, foram-se embora, e eu me decidi a dormir. Um asilo para os pobres em Castellammare parecia tão remoto e fantástico como o Brasil
ou as ilhas
Douradas das Hespéridas.
Tive outro visitante, num dia de sol, ao voltar a Sorrento para ordenar minhas inúmeras notas e sacudir do corpo a sujeira de Nápoles. Chamava-se don Arnaldo.
Era
padre da diocese de Nápoles e também escritor - historiador e filósofo político. Seu último livro sobre a influência de Maquiavel na política italiana causara
sensação
nos círculos eruditos da Europa.
Don Arnaldo era, além disso, professor numa das escolas adjuntas aos seminários, a qual tinha a seu cargo um número limitado de alunos, além dos candidatos
a padre.
Vários anos em úmidas e insalubres salas de aula haviam-lhe provocado asma e ataques periódicos de bronquite. Disse-me que tinha cinqüenta e cinco anos,
mas parecia
mais velho.
Sentamo-nos ao sol, no terraço do meu estúdio, olhando para o oriente ao longo das montanhas, até o contraforte arborizado do Capo di Sorrento. Bebemos uma
cerveja
alemã e fumamos cigarros ingleses. Falamos das escavações em Castellammare, dos templos gregos de Pesto e da passada grandeza da República de Amalfi.
Depois, falamos da Igreja.
- Distinguimos -- disse don Arnaldo na sua apurada maneira acadêmica - entre a Igreja e seus membros: a Igreja é o místico corpo de Cristo, o repositório
da verdade,
a fonte da graça, os membros da Igreja, sacerdotes e leigos, que fazem da verdade e da graça bom ou mau uso.
Concordei com a distinção. Filosoficamente estava certa. A justiça não pode confundir-se com os homens que a administram. A verdade é sempre a verdade,
seja qual
for a perversão daqueles que a apregoam.
A Igreja Católica na Itália reconhece o mesmo chefe e o mesmo corpo de doutrina que a Igreja Católica na América, na Austrália ou na Argentina. Concede
a mesma latitude
nos casos
de definição duvidosa, tanto na fé como na prática. Pelo menos, em teoria.
- Na prática?. . .
- Na prática - disse don Arnaldo melancolicamente - tenho de admitir que a situação é diferente. Há um século, a Igreja Católica decidiu separar-se total
e completamente
da vida política e social deste país. Deixou as escolas, o foro e a legislatura. Aceitou uma dicotomia que, na realidade, é uma heresia, ou seja, que a
vida religiosa
é uma coisa e a social é outra. Existe apenas uma vida - a vida humana em todos os seus aspectos. A origem e o destino do homem são de natureza divina.
Todas as
circunstâncias de sua existência estão ligadas ao ambiente da Igreja. E essa a doutrina que tem sido repetidamente exposta por todos os pontífices, desde
Leão XIII,
mas só agora a Igreja italiana começa a pô-la em prática. Aqui no sul sua aceitação tem sido mais lenta do que em qualquer outra parte.
- Por quê?
- Porque a Igreja do sul esteve outrora ligada aos soberanos de Nápoles. . . espanhóis, Bourbons, casa de Savóia, uns após outros. A diocese do Mezzogiorno
transformou-se
num objeto político. Os prelados eram conservadores por princípio, aceitando a ordem social como coisa fixa e imutável. Hoje ainda transportamos nos ombros
o peso
desses tempos agitados. O espírito novo começa a germinar mas é como uma planta numa terra cansada e hostil, que tenta crescer através dos pedregulhos da
história.
Levará anos antes que se desenvolva livremente à luz do sol.
Eu estava irritado e ataquei-o. Não tinha razão para o fazer, pois era um homem bom, inteligente e amável, muito mais velho do que eu e muito mais perto
de Deus.
Perguntei-lhe o que fazia o povo enquanto os pastores preguiçosos ensaiavam a reforma. Falei-lhe dos frades e das religiosas que percorriam as ruas em busca
de fundos
para manter seus órfãos e doentes, enquanto católicos ricos fechavam o coração e a bolsa sem que uma palavra de censura lhes fosse dirigida do alto dos
púlpitos.
Perguntei-lhe como podiam patrões católicos pagar ordenados tão miseráveis a seus operários e demiti-los a seu bel-prazer sem que os prelados do sul protestassem.
Perguntei-lhe por que razão havia tão poucos clérigos que se devotassem realisticamente aos problemas relativos à promiscuidade dos bassi, à freqüência
dos bordéis
por menores e ao trágico problema em que se debatiam tantas e tão proliferas famílias. Falei-lhe dos rapazes de face amarelecida que se preparavam para padres no
seminário de Sorrento - estudando humanidades caducas do século XIX, empanturrados de lugares-comuns de religiosidade, segregados do mundo
que um dia
teriam de ensinar e reformar.
Tudo isso e outras coisas mais lhe lancei no rosto, até que, apaziguada minha irritação, comecei a sentir-me envergonhado de mim mesmo e me vi constrangido
a pedir
desculpas. Depois disso lhe servi outro drinque e esperei pela resposta.
Para minha surpresa, concordou comigo.
- Tudo o que acaba de dizer, meu caro, é verdade, embora não seja muito justo para com os homens ativos e esclarecidos que tentam modificar o presente estado
de
coisas. E é ainda menos justo para com aqueles que, no decorrer dos anos, têm construído orfanatos, asilos e refúgios, os quais são, ainda hoje, a única
caridade
recebida por nossa pobre gente. A Igreja do sul tem cometido muitos erros, mas também tem feito muito bem - e sem ela o povo estaria mergulhado numa miséria
ainda
maior do que aquela que suporta.
Aquiesci. Era uma verdade indiscutível. A Igreja, apesar de todas as suas culpas, é tudo o que resta aos deserdados de Nápoles. É dela que esperam auxílio,
acolhimento,
conforto para a aridez de sua vida. Tem-lhes dado muito, e se não dá mais é porque seus representantes são homens, sujeitos às fraquezas humanas, oprimidos,
como
o povo de Nápoles, pelos pecados de seus antepassados históricos.
- A chave do problema está na educação - prosseguiu don Arnaldo. - Uma educação que produza clérigos esclarecidos, capazes de falar com autoridade tanto
aos ricos
como aos pobres. Uma educação que produza educadores. . . apóstolos da reforma e da justiça social.
Fiz notar que era a Igreja que tinha a seu cargo a educação clerical. Bispos e arcebispos dirigiam seus seminários e a formação dos párocos de suas dioceses.
- É verdade - disse don Arnaldo. - Mas muitos bispos estão velhos. Na maioria, são conservadores e temem uma mudança brusca. Admitem a necessidade da reforma,
mas
receiam as conseqüências de uma imprudência numa situação social explosiva.
- Nesse caso, por que não mudam os bispos? Por que não lhes fornecem ajudantes jovens cuja influência se possa sentir rápida e fortemente?
Don Arnaldo jogou para trás a cabeça e riu:
- Ora, ora, meu amigo. Não é assim tão ingénuo! Sabe que há uma burocracia na Igreja, mais antiga e complexa do que a da nossa infeliz Itália. Temos um
papa que
é quase um santo, um homem cheio de sabedoria, mas que só pode trabalhar com os instrumentos de que dispõe. Destruir um edifício é fácil: basta uma carga
de dinamite.
Mas para substituí-lo por uma construção nova são precisos anos.
Concordei e sorvi meu drinque. Para este, como para tantos outros problemas, a solução não era fácil. A primavera aproximava-se, e o povo do sul sorria
porque os
turistas estavam chegando e as fábricas de conservas iam funcionar de novo: haveria mais dinheiro e trabalho, o sol aqueceria os corpos atormentados e a
umidade
secaria nas paredes dos bassi.
É um povo paciente. Tem sofrido muito e sofrerá ainda mais. Aprendeu a manifestar sua gratidão pelos menores favores. Mas pergunto a mim mesmo o que já
perguntei
uma centena de vezes: e as crianças? O que fazer pelas crianças?
Capítulo terceiro
Meus amigos italianos costumavam sorrir sempre que me ouviam falar deste livro.
"Nápoles é demasiado grande", diziam, "demasiado antiga e complexa para que possa compreendê-la."
Não concordava com eles e continuo a não concordar. Muitos nunca tinham estado nos bassi. Nenhum deles passara ali metade do tempo que eu lhes consagrara.
De outro
modo, saberiam que a vida nessas vielas é muito simples - tão simples como nascer, amar ou morrer.
Não há mistérios nos bassi, senão o de saber como tanta gente continua a subsistir com tão pouco. Caminhe-se pelas ruas, de dia e de noite, e se compreenderá
que
é fisicamente possível assistir a cada fase do ciclo da vida, desde a concepção até a morte. Foi o que Peppino e eu fizemos. Era minha intenção descrever
a vida
de um garoto e de uma menina desde a infância até a maturidade, para ver o que Nápoles fizera deles, como e
por quê.
Estou convencido de que muitos eram gerados com amor no grande letto matrinoniale de ferro, sob a imagem da Madonna ou o plácido olhar de um santo de gesso.
A paixão
do ato tende a ser inibida pela proximidade de tanta gente, e as manifestações de afeto entre casados são raras. Mas há muito amor nos bassi e um grande
respeito
pelos laços matrimoniais.
Para a mãe, a concepção de um filho é uma alegria. Mais tarde, será um agravo; nos meses de gestação, porém, é objeto de interesse e cuidados e centro de
toda a
tagarelice da rua. Histórias de parto constituem um prazer constante para as mulheres napolitanas, que as embelezam com pormenores lendários mais velhos
do que
Pompéia.
Normalmente, a futura mãe não vai ao médico. Uma consulta iria custar-lhe pelo menos mil liras; além disso, a gestação
e o nascimento são funções naturais que, por isso mesmo, dispensam preocupações. . . Esse estado de espírito primitivo tem resultados pavorosos pela vida
afora,
mas muitas napolitanas parecem sobreviver sem grandes danos.
Se há uma emergência que requer cuidados médicos, nenhuma mulher do sul pensaria em ir a uma consulta sem se fazer acompanhar. Se submetida a um exame íntimo
sem
a presença de uma mulher mais velha seria comprometer-se a si e ao médico. Mesmo mulheres de boa sociedade seguem essa prática.
Como nenhum médico está disposto a ir demasiado longe na presença de uma testemunha - especialmente uma testemunha feminina -, os clínicos têm tendência
a fazer
um exame superficial, de modo que a educação ginecológica se torna quase impossível. Rumores e boatos espalham-se como fogo na floresta pelas ruas apinhadas
dos
bassi, e qualquer médico que se arvorasse em educador das pacientes se veria na miséria ou reduzido à suja prática do casino e das casas suspeitas.
É essa, também, a razão da alta percentagem de abortos clandestinos em Nápoles. Uma moça solteira tem o direito de se mostrar complacente com o fidanzato,
a fim
de não perdê-lo. Se fica grávida, torna-se a vergonha da família, fazendo-se por vezes espancar pelo pai ou pelos irmãos. Se é expulsa de casa, acabará
nas ruas.
Assim, com freqüência, dirige-se ela própria a uma abortadeira pouco escrupulosa - às vezes com resultados terríveis. Outras vezes, quando se decidem a
chamar
o médico, já é demasiado tarde para outra coisa que não seja uma intervenção cirúrgica de urgência.
Quando uma criança legítima nasce, a mãe é assistida em casa pela parteira local e meia dúzia de assistentes volúveis, se não inexperientes. As dores de
parto são
públicas, e seu triunfo suscita a alegria geral. Multidões de mulheres juntam-se à porta, ao passo que os homens e as crianças são afastados para distância
respeitosa,
mas os gritos são tão estridentes e dramáticos que até as crianças percebem o que se está passando. As desinfecções são primitivas e sempre difíceis. A
mortalidade
é elevada, mas nesse caso, como em muitos outros casos de saúde pública, não é difícil obter dados exatos.
Nascida a criança, lavada e instalada a mãe na grande cama de ferro, abrem-se as portas, e o desfile de admiradores começa. Há uma estranha e comovente
beleza nesse
culto primitivo. A mãe, pálida e cansada, com o filho ao colo, o pai retorcendo as mãos rudes e sorrindo nervosamente com orgulho aos cumprimentos dos vizinhos,
as crianças rindo e subindo na cama,
a fim de verem o recém-nascido, a parteira no centro das faladoras mulheres, as moças segredando a um canto acerca dos esotéricos pormenores do nascimento.
Pouco importa que, dentro de alguns anos, a criança tenha de procurar alimento entre os restos de peixe e fruta podre. Pouco importa que a mãe, gasta pelos
partos
e pela pobreza, deixe de sentir amor por sua numerosa e indisciplinada ninhada. Nesse momento, ela tem a dignidade de uma rainha e recebe as homenagens
de todos
os humildes habitantes dos bassi.
As crianças napolitanas são amamentadas. O leite de vaca é caro e muitas vezes de pureza duvidosa. Os suplementos necessários são ainda mais caros. Se o
leite seca
na mãe, a criança é alimentada por outra mãe - que não é difícil de encontrar, uma vez que a toda hora nascem bebês nos bassi.
A primeira infância é a fase mais feliz da vida de um napolitano pobre. Os pequenos são mimados, queridos e a vida da família gira a sua volta. Infelizmente
tal
situação é transitória, e a criança acaba por se esquecer dela. Talvez, afinal, seja melhor assim. Lembrar-se do Paraíso Perdido nos bairros pobres de Nápoles
seria
uma dor insuportável.
Contudo, a felicidade, como a miséria, é algo muito relativo, e as crianças de Nápoles experimentam-lhe a rudeza. São aquecidas, alimentadas e amadas. Mas
sua alimentação
não é equilibrada, e estão sujeitas a ser vítimas de raquitismo ou de outras doenças por deficiência.
Uma tarde, Peppino e eu paramos para conversar com uma jovem que estava amamentando um bebê, junto a uma das meias portas da Viço San Agnello. O rosto
da criança
estava coberto de pústulas e crostas devidas à pelagra. Pus-me a observá-la.
- Pergunte-lhe - disse eu a Peppino - se ela sabe o que é aquilo.
Peppino e a mulher trocaram algumas frases em dialeto, depois Peppino traduziu:
- Mallattia dipelle... doença de pele. Há muitas crianças com isso.
Pedi que lhe explicasse que aquilo era causado por uma alimentação deficiente e que podia curar-se logo com vitaminas. Peppino sacudiu a cabeça.
- Ela não compreenderia, Mauro. Está perdendo seu tempo.
- Pois bem, nesse caso vamos fazê-lo nós. Iremos à farmácia comprar um frasco de vitaminas. Daremos a ela e lhe explicaremos como deve administrar o remédio
à criança.
Peppino sorriu pacientemente e recusou-se de novo:
- Sabe o que aconteceria, Mauro? Pegaria o frasco e o esconderia com medo de qualquer influência diabólica. Quando o marido chegasse em casa, entregaria
a ele.
Então, iria vendêlo no mercado negro por um sexto de seu valor. Seria dinheiro jogado fora.
Eu estava pasmado com tanta ignorância. Peppino baixou-se e mostrou-me, pendurado ao pescoço do bebê, um pequeno adorno. Era de coral vermelho e parecia
uma miniatura
de couro de animal.
- Sabe o que é isto, Mauro?
- Um simples adorno. Existem aos montes nas lojas de souvenirs e nas joalherias.
- Não, Mauro. Não é um simples adorno. É um amuleto contra mau-olhado. Um dia esta criança vai por essas ruas. . . talvez fique mesmo aqui, como agora, no
colo da
mãe. . . e acontece passar um homem, como você, por exemplo, que tem mauolhado. . . mal'occhio. O bebê poderia ficar cego, com uma úlcera no estômago ou
com as
mãos e as pernas entrevadas.
- Superstição! A mesma superstição que faz da maneira como essa gente venera os santos uma espécie de idolatria.
Peppino sorriu e estendeu as mãos, num gesto de impotência suplicante.
- com certeza, Mauro, com certeza! Mas a superstição é uma doença que não pode curar-se com um frasco de pílulas de vitaminas. É preciso educação para isso.
Educação! Voltávamos ao mesmo ponto. Educação individual e social. Mas havia cinqüenta mil crianças em Nápoles que não podiam freqüentar a escola - e centenas
de
outras nascidas todos os dias. Foi minha vez de encolher os ombros. Tirei do bolso um maço de cigarros, ofereci um a Peppino e ficamos a observar a jovem
mãe que
mudava as fraldas do filho.
Bem precisava do cigarro. Há muito que a criança não era trocada. A fralda de algodão estava imunda e, quando a mãe a tirou, a criança gritou de dor. Tinha
as nádegas
em carne viva. Como pai de família, eu tinha alguma experiência na matéria. Estava a ponto de dizer qualquer coisa, de explicar àquela mulher que. . .
- Vamos, Mauro! - disse Peppino, agarrando-me pela manga e arrastando-me para fora dali. - Se quer acabar seu trabalho, não se pode dar ao luxo de esgotar
sua compaixão
logo no primeiro mês. Essa criança viverá o bastante para gritar
muitas vezes ainda. De qualquer modo, não poderá modificar seu destino, mesmo um pouco que seja.
- Mas é uma coisa elementar, uma simples questão de higiene. Não se pode deixar uma criança, tal como um adulto, na imundície.
- Eu sei, Mauro, eu sei e você também. Mas essa gente não. E enquanto não aparecer quem a ensine, nunca o saberá. Gostaria de se instalar aqui e fundar
uma escola
nos bassi?
Era uma pergunta franca que me obrigava a responder francamente. Não, não gostaria de me instalar ali. Sabia que ficaria com o coração destroçado ao cabo
de doze
meses. Não teria coragem. Mas se ninguém tiver essa coragem, nunca haverá a mínima esperança para a medieval ignorância do Mezzogiorno. Em Nápoles é ruim,
mas em
Púglia ou nas montanhas da Calábria torna-se uma coisa destruidora e diabólica.
O programa de reforma agrária foi retardado dez anos pela estupidez primitiva dos camponeses e pela imprevidência dos reformadores.
Quando as primeiras grandes propriedades foram divididas em lotes e os lavradores se instalaram cada um no seu pedaço de terra, a economia local ruiu bruscamente.
Em vez dos feitores ou dos proprietários ausentes, que apareciam oito ou dez vezes por ano a fim de indicarem o que era preciso plantar, quais os campos
a desbravar,
quais as vacas a mandar para a cobrição, agora os camponeses só podiam contar consigo. Têm menos terras para cultivar e têm de administrá-las economicamente,
a fim
de poderem subsistir. Não há ninguém que lhes diga como vaporizar as árvores de frutos e usar os modernos fertilizantes vindos da América. Têm terra, mas
não têm
arados. Precisam comprar gado e forragem para alimentá-lo. Ao fim de doze meses, estão à mercê de novo proprietário: o merceeiro local que esfrega as mãos
ao mesmo
tempo que vai concedendo crédito e embolsa mais um documento que lhe permitirá apoderar-se das terras retalhadas.
Todo o sul carece de educação. É uma região pobre, de estrutura pobre. Mas se a educação e os métodos modernos podem abrir novos horizontes na América,
na índia
e no Iraque, também o podem aqui. O difícil é conseguir educadores. Num país onde o resultado de um exame depende em grande parte da recomendação ao professor
-
freqüentemente paga -, há pouca esperança de preparar um núcleo de educadores competentes. O atual vencimento do professor deixa-o reduzido à
condição de um mestre-escola de baixo nível, pelo que perde a coragem mesmo antes de se entregar ao trabalho
Estava na hora do almoço. Peppino e eu paramos junto de um carro de fruta, comendo maçãs e estudando as tabelas dos preços. O problema da alimentação era
importante
para meu inquérito sobre as crianças, e a melhor maneira de me documentar era por meio da lista de preços dos vendedores locais. Os ovos, que se vendem
em toda parte,
mesmo nas tabacarias, custavam 480 liras a dúzia. Era caro, em relação aos preços australianos ou ingleses. As bananas, importadas da Somália, estavam a
480 liras
o quilo. As batatas novas custavam cem liras o quilo, e os espinafres, amargos e pequenos devido ao rigoroso inverno, estavam a cem liras também. As maçãs,
farinhentas
e machucadas, custavam 180 liras o quilo, e as laranjas de Sorrento, 150.
Observando as mulheres locais, vi que compravam maços de brócolis e espinafres, um pouco de cebolas, alcachofras e, ocasionalmente, cenouras. Era raro levarem
fruta,
e sempre em pequena quantidade.
No outro lado da ruela, na salumeria, a manteiga vendia-se a seiscentas liras cada meio quilo e um pão de 250 gramas custava sessenta liras. Supondo que
o salário
de um chefe de família seja de quinhentas liras, será possível ver que é difícil equilibrar a alimentação das crianças e preservá-las das doenças por deficiência.
A carne de qualquer categoria está além das posses do trabalhador: meio quilo representa o salário de vários dias. A massa, base da alimentação desse povo,
custa
trezentas liras o quilo. O sal, monopólio do governo, está a 120 liras o quilo. A bebida mais barata é o vinho, a 160 liras o litro, e é preciso fornecer
a garrafa.
Cozinhar levanta outro problema, quando tem de se alimentar dez pessoas que vivem no mesmo quarto, nos bassi. Os mais pobres estão reduzidos a um fogareiro
a carvão
ou a lenha, mas a maior parte das famílias utiliza um minúsculo fogão de três bicos, alimentado a gás. A chama é pequena e o combustível, de má qualidade,
o que
torna impossível uma cozinha variada. Não admira, portanto, que as aflitas donas de casa quase se limitem à massa e ao molho de tomate, e que as crianças
de seis
ou sete anos aparentem o desenvolvimento das crianças de quatro noutros países.
Terminada a maçã, atirei o caroço num monte de papéis, debaixo de um arco sombrio. Ao fazê-lo, lembrei-me de que nessa mesma noite, ao abrigo da escuridão,
meninos
e meninas iriam escavar naquele montão e um deles comeria provavelmente o caroço que joguei fora. Essa idéia causou-me náuseas. Depois, minha atenção foi
atraída
para um espetáculo bastante comum
nas ruelas.
Uma garotinha, de cinco ou seis anos, cambaleava sob o peso de um saco de pano grosseiro, colocado no ombro. com a mão livre, segurava um bebé de traseiro
nu, cara
suja e nariz cheio de ranho. Ali, sob nossos olhos, estavam a segunda e terceira idades das crianças dos bassi.
Os pequeninos que ainda não aprenderam a dominar as funções naturais saltitam nus da cintura para baixo, quer faça bom ou mau tempo. Se isso parece um
costume bárbaro
às mães dos nossos países, que perguntem a si próprias como poderiam educálos - ou mantê-los simplesmente limpos - num aposento sem água corrente nem privada.
É claro que essa higiene primitiva contribui para aumentar o índice de mortes por pneumonia e tuberculose. Mas o que é uma criança a mais ou a menos entre
as centenas
de milhares que há em Nápoles?
A pequenina ama-seca também oferecia matéria de observação interessante. Tinha as pernas e os braços como palitos. O cabelo era um esfregão emaranhado.
Envergava
um roto e desbotado vestido de algodão, por baixo do qual apareciam uma calcinha de mulher, suja e rota. Tinha os pés descalços, de pele azulada pelo frio.
Eu, que
vestia um sobretudo de lã e uma camiseta por baixo do blusão de marinheiro, mesmo assim sentia frio naquela atmosfera de primavera em que um sol pálido
se filtrava
por entre os varais de roupa suja. A pobre e esfarrapada criança devia estar gelada até os ossos!
Enquanto seguia cambaleando, curvada sob o peso da carga, arrastando o bebé que choramingava, parecia uma velhinha. Acotovelei Peppino, que a chamou em
napolitano
para lhe oferecer uma maçã. Ergueu imediatamente o rosto, mas seu olhar estava vazio e não havia sombra de um sorriso em seus lábios de criança. Peppino
estendeu-lhe
a maçã, confirmando assim sua oferta. A pequenina olhou-o por instantes com silenciosa amargura, depois baixou a cabeça e prosseguiu em seu caminho ao longo
da
ruela.
Eu começava a compreender o que acomecia às meninas dos bassi. À medida que o número de filhos aumentava, as mais velhas eram obrigadas a olhar pelos menores.
Enquanto
suas irmãs, noutros países, brincavam com bonecas ou ofereciam chá às amigas, as pequeninas daqui lavavam a louça, esfregavam as panelas e varriam os atravancados
quartos
com uma vassoura de palha. Não freqüentavam a escola porque não há escolas suficientes e, além disso, de que serve instruir uma mulher, cuja única função
é casar,
cozinhar e ter filhos?
Levantam cedo e vão para a cama a horas incrivelmente tardias. Passeei pelas ruelas à meia-noite e encontrei crianças que brincavam ainda nas calçadas. Vi-as
nos
quartos do térreo, às três da manhã, ainda completamente vestidas, dormindo sentadas à mesa da cozinha onde os mais velhos conversavam.
Parte disso se deve à ignorância, parte a descuido, parte à impossibilidade de manter uma vida ordenada nos quartos superpovoados das casas de aluguel.
O centro da família é o pai, que ganha o pão. Chega do trabalho - quando trabalha - às nove da noite. Então tem de ser alimentado e até mimado, pois geralmente
labuta
durante doze horas, apenas com um café e um pedaço de pão. Quando acaba de comer, são dez ou onze horas, a luz continua acesa e é impossível instalar-se
na grande
cama antes que o pai e a mãe estejam prontos. Por isso, as crianças velam até tarde. Se dois ou três dos filhos estão ausentes, presume-se que brincam com
os outros
num pátio vizinho ou à luz das tendas dos vendedores ambulantes. Sua ausência começa por ser considerada um alívio. Passado algum tempo, torna-se um hábito.
Mais
tarde, a corrupção da cidade apodera-se dos mais novos e então já é muito, muito tarde para remediar o mal.
com as meninas a corrupção opera mais lentamente, mas não com menos segurança. Sua meninice passa depressa, quase sem darem por isso. Começam muito cedo
a consagrar-se
aos serviços domésticos. Estão submetidas à mãe. Compreendem que é aquilo é vida da mulher. Se riem pouco e se esquecem de brincar com as outras meninas,
isso também
parece normal, e não há motivo para lamentar demasiadamente o fato.
É quando chegam à puberdade, à idade ingrata da adolescência, que os aborrecimentos começam. A quente promiscuidade do leito conjugal cedo lhes ensina as
realidades
da vida, ao mesmo tempo que a tradição da honra feminina as impede de qualquer contato com os rapazes da mesma idade, com exceção dos poucos que são admitidos
em casa como pretendentes possíveis e aos quais se exige o máximo decoro.
Seus sonhos de adolescentes começam a concentrar-se no casamento com um rapaz sério - um homem que tenha
trabalho. É uma das mais patéticas características desse povo: para todos, a boa terra é aquela onde há trabalho e pão. Não queriam acreditar, quando lhes contei
que
vinha de um país onde havia mais empregos do que homens.
Portanto, a promiscuidade da vida familiar afeta pouco a pouco a moça. Seu primeiro contato sexual é provavelmente com um irmão mais velho. Pode não chegar
ao ato,
embora muitas vezes isso aconteça. é sua única possibilidade de experiência sexual, sem que se transforme numa mulher perdida.
Por vezes, esses contatos tornam-se um hábito, visto tanto o macho como a fêmea estarem inibidos pelas anormais condições de sua vida em comum. Ainda que
fortuitos,
há, no entanto, um sentimento de culpa, agravado por sua fé católica - e esse sentimento de culpa tem muitas vezes conseqüências piores do que as exigências
sexuais
fora da família. A fonte está envenenada. A única unidade segura começa a desintegrar-se, e a moça ou o rapaz vê-se sem defesa na selva dos bassi.
Tudo isso e muito mais me foi explicado por Peppimo numa de nossas excursões noturnas. Tínhamos comido pasta com uma dessas famílias e dirigíamo-nos para
a casa
de outra onde devia realizar-se uma reunião com música e talvez um pouco de dança. Encaminhei a conversa para o problema das moças e do sexo. Peppino elucidou-me
com brutal franqueza:
- Veja, Mauro, o meu caso. Aprendi com o padre Borelli que não se tira proveito de uma vida desonesta e indecente. Mas como posso eu, na minha idade, viver
e dormir
no mesmo quarto com minha irmã, agora que o seio dela se desenvolveu e ela começa a parecer-se com as outras mulheres? Se não posso tocá-la terei de procurar
outra
mulher que me acalme. Isso significa ou a rua ou o casino. De qualquer maneira, é mau para mim. No primeiro caso, é mau para ela, também.
- Mas suponha, Peppino. . . como acontece muitas vezes. . . que sua irmã ou outra moça da mesma idade não encontre um bom marido, um casamento vantajoso?
Não
terão elas
desejos, também?
- Sicuro! - concordou Peppino, sinceramente. - Nossas mulheres são tão apaixonadas como nós. Se não conseguem casar-se então. . . - Encolheu os ombros.
- Então,
resta-lhes a rua, um homem que tome conta delas, o bordel ou a casa de
encontros.
À medida que falávamos, íamos andando ao longo de uma estreita e sombria ruela que dava para uma pequena praça, onde se erguia uma antiga igreja espanhola.
A nossa
frente, uma
porta abriu-se e uma moça saiu. Como ficasse um momento sob a luz e se voltasse para dizer adeus, fiquei surpreendido ao notar que usava um vestido cinzento
muito
elegante, sapatos e meias de náilon. Segurava uma bonita bolsa e tinha um casaco de fazenda de corte impecável nos ombros. Diminuímos o passo para a deixarmos
passar
a nossa frente, depois perguntei a
Peppino:
- Aquela, por exemplo? Vive nesta rua. Sua família. . . apontei para a porta por onde ela saíra. - Sua família se parece com qualquer outra. Como consegue
ela vestir-se
tão bem e sair sozinha a uma hora destas?
Peppino fez um gesto expressivo:
- Talvez seja como nosso pequeno empregado: trabalha num clube, num restaurante ou num hotel que a obriga a apresentar-se assim. Talvez toda a família -
o pai e
os irmãos
- tenha trabalhado e possa pagar-lhe os vestidos. Talvez não seja uma moça séria e mantenha um quarto na cidade, onde recebe homens. Talvez vá atender a
uma chamada
de uma casa de encontros. Há tantas razões possíveis! A única maneira de saber a verdade é perguntar à própria moça.
Considerei que tiraríamos grande proveito disso e disse-lhe. Estava mais interessado em encontrar resposta para outra
pergunta.
- Suponha, Peppino, que seja uma moça da rua ou que freqüente uma casa de encontros. Continua, porém, a viver com a família. O que é feito, então, dessa
honra de
Nápoles, dessa preocupação com a virtude de suas moças?
Peppino olhou-me vivamente, como se receasse que eu estivesse zombando dele. Quando concluiu que eu falava muito
sério, respondeu:
- Chega uma ocasião, Mauro, seja em que família for, em que nenhum pai ou irmão consegue vigiar uma mulher. Talvez esses sejam tão miseráveis que tenham
de aceitar
com gratidão o que ela traz, sem que lhes importe saber como o arranjou. Se fosse pai dela, se estivesse sem trabalho e vivesse, como dizem os napolitanos,
"à custa
da filha", teria o direito ou a coragem de lhe perguntar o que fazia?
Concordei que, provavelmente, nada faria. Conhecia muitos pais que não conseguiam dominar as filhas, nem à custa de um Jaguar e de uma mesada. Quem era
eu para julgar
a moral de Nápoles? Tivera a resposta que desejara. Seguira o ciclo de vida de uma garota dos bassi, o qual pode levar ao casamento
ou a uma deplorável substituição. De uma ou de outra forma, as esperanças não eram muitas.
Há, na Itália de hoje, dois a três milhões de mulheres que vivem da prostituição. Esse número foi revelado pela senhora Lina Merlin, a única mulher que
faz parte
de uma assembléia legislativa e que continua a lutar no senado para fechar os bordéis que operam com licença do governo. Afirma ela que Nápoles é um dos
três centros
mundiais de tráfico de brancas e que as operações são dirigidas por Lucky Luciano, gângster deportado dos Estados Unidos.
Era minha intenção incluir neste livro um estudo acerca desse tráfico em Nápoles e no Mezzogiorno. Os fatos essenciais eram fáceis de obter. Os bordéis
estavam em
atividade e faziam bom negócio. Qualquer porteiro de hotel ou guia de turistas pode fornecer o endereço ou o número de telefone das casas do Vomero onde
operam
as call girls. E-lhe possível mostrar uma coleção de fotografias, e a moça escolhida estará à disposição dentro de meia hora.
Soube pelos scugnizzi como conseguiam clientes para as moças e para as casas que lhes pagavam muitas vezes em gêneros alimentícios.
Numa cidade onde as moças não podem casar-se porque os rapazes não conseguem emprego, o trabalho dos intermediários é ridiculamente fácil. . . Mas quando
tentei
aprofundar o problema, as dificuldades surgiram de todo lado. Como investigador particular, vi-me bloqueado pela polícia e pelas autoridades públicas. Jornalistas
italianos disseram-me que também estavam proibidos de quaisquer pesquisas a esse respeito. Havia muito interesse em jogo, pois grande parte das casas operava
sob
nomes falsos por conta de cidadãos respeitáveis.
Finalmente, um amigo discreto, funcionário da polícia, fezme notar que, como investigador particular, sem a proteção de um organismo de imprensa internacional,
poderia
acabar numa viela com a garganta cortada. Não me foi difícil convencerme disso. Meus amigos scugnizzi haviam-me feito o mesmo aviso por outras palavras.
A própria
senadora Merlin afirmava ter recebido ameaças contra sua vida, provenientes dos sindicatos da droga e da prostituição.
com relutância, pus a idéia de lado. Mas soubera o suficiente para poder acrescentar com verdade e convicção esse sinistro post scriptum à história das
moças de
Nápoles.
O governo italiano admite que há dois milhões de desempregados no país. com base nos números de Lma Merlin, há
também dois milhões de prostitutas, muitas delas nos bordéis explorados com licença do próprio governo. Os dois fatos estão diretamente relacionados.
^ Os rapazes pobres não podem casar-se. As moças pobres não tem o que comer.
Os alcoviteiros de rosto pálido palitam os dentes às portas dos casini e aproveitam-se de uns e de outros.
Capítulo quarto
Uma noite, Peppino sugeriu que fôssemos ao cinema. Havia um bom filme, // kentuckiano, estrelado por um famoso ator chamado "Boort Lahncaster".
Confesso francamente que gosto de cavalgadas e que posso comer um saco de pipocas tão feliz como qualquer criança, enquanto os índios uivam e os cavaleiros
acrobatas
rolam pelo pó. Mas "Boort Lahncaster" de cabelos compridos e sotaque italiano era demasiado, mesmo para meu gosto juvenil. Pedi a Peppino que sugerisse
outra distração
- talvez uma revista ou mesmo marionnettes.
Acenou negativamente com a cabeça. Aquele filme tinha qualquer coisa de especial. A sala também - a Sala Roma. Era um dos pontos de reunião dos garotos
da rua e
daqueles com quem tinham negócios. Queria estudá-los, não queria? Queria ver em que os transformava Nápoles e como agiam depois de deixarem a casa paterna
para
se ligar aos scugnizzi? Ebbene! Devia ir à Sala Roma. Além disso, um dos rapazes era seu amigo. Podia ouvir-lhe a história da própria boca.
Fomos à Sala Roma. Era, como a maior parte dos cinemas napolitanos, um local de aparência pobre, com um vestíbulo escuro e cartazes de cores berrantes.
"Boort Lahncaster"
também estava ali, envergando uma pele de camurça, com característica cabeleira, rifle a tiracolo e sorriso feroz. Meu coração apertou-se. Peppino sorriu
ao ver
minha confusão e foi comprar os bilhetes. Fiquei à porta, observando os espectadores que entravam e os pequenos grupos de adolescentes e garotos desfilando
ao longo
da calçada.
A maior parte estava tão andrajosa como eu, mas alguns apresentavam-se bem vestidos, no estilo da moda de Nápoles, com casaco curto e justo, calça justa,
gravata
vistosa e sapatos pontiagudos meticulosamente engraxados. Estavam barbeados,
tinham os cabelos empastados de brilhantina e recendiam a águade-colônia e aos perfumes preferidos pelos cabeleireiros italianos. Encostei-me à parede,
acendi um
cigarro e quedei-me a observá-los.
Falavam alto e com volubilidade, numa voz esganiçada. Seus gestos eram largos e afetados. De quando em vez, davam pancadinhas na face dos mais novos ou
passavam-lhes
afetuosamente um braço em redor dos ombros, segredando-lhes ao ouvido frases confidenciais. Caminhavam com a esbelteza duma moça consciente de seus encantos.
Compreendi, então, o que eram. Eram osfemmenelle - os invertidos. Encontram-se em todas as grandes cidades do mundo e, em cada uma delas, há locais onde
se reúnem.
A Sala Roma era um deles. Compreendi por que Peppino me levava ali. Queria mostrar-me o resultado final da pobreza, o miserável baixo mundo em que se faz
o comércio
das ruas e no qual acabam inevitavelmente as crianças dos tugúrios.
O comércio é variado: contrabando, roubo, venda de roupas usadas e óculos escuros alemães, angariadores de números de telefones, transporte de encomendas
de droga
de uma cidade italiana para outra. Mas o clima é sempre o mesmo: prostituição, perversão, dignidade destruída, monstruosa mentira de uma humanidade em ruínas.
Peppino voltou e colocou-se a meu lado, apontando disfarçadamente com o polegar na direção de um dos grupos.
- Está ali, um amigo meu. Espere aqui. Tenho de falar primeiro com ele. Está na hora dos negócios. Não quero estragar nada.
Resmunguei em sinal de concordância e vi-o afastar-se. Parecia-me que uma mudança se operara nele, que era como um ator que sai dos bastidores para a luz
da ribalta.
Parecia um daqueles com quem ia encontrar-se. Tinha a mesma atitude de impertinente confiança e esse ar de conspirador que caracteriza o guappo napolitano.
Quando alcançou o grupo, foi acolhido muito friamente. Só um deles, um rapaz esguio com uma camisa estampada de flores, mostrou certa cordialidade. Peppino
chamou-o
de lado e iniciou uma conversa em voz baixa, instável, pontuada de gestos. Depois apontou em minha direção. Olhei para outro lado e dei a entender que não
era nada
comigo: mas, vi de esguelha que o outro me observava atentamente. Em seguida, acenou com a cabeça, como se estivesse de acordo com a proposta de Peppino.
Este
agarrou-o pelo braço para conduzi-lo até mim, mas o
outro ainda não estava disposto a isso. Olhou para o lado contrário da rua e levou um dedo ao nariz, dando-se ares de esperto. Depois voltou a cabeça na
direção
do cinema e esfregou dois dedos, num gesto que significava dinheiro. Peppmo pareceu concordar e regressou para perto de mim.
- O que se passa? - perguntei.
- Meu amigo está disposto a falar com você - explicou rapidamente Peppino. - Mas, primeiro, tem de se encontrar com alguém. . . - Cuspiu com desprezo -
um pederasta
como aqueles. Têm negócios a tratar, qualquer coisa acerca de cigarros. Disse que víssemos o filme; ele se encontrará conosco na saída. Então irá contar-lhe
o que
quer saber. Tem uma boa história. D'accordo?
- D'accordo.
Tive de suportar "Boort Lahncaster". Era o melhor que havia a fazer. O diálogo italiano aumentava a estupidez do filme. A sala estava repleta de fumaça
de cigarro.
A meu lado, um indivíduo gordo roncava espasmodicamente e arrotava alho. A frente, um garoto de cabelos empastados apalpava uma garota como se fosse a fachada
de
uma casa. . . Peppino mostrou-se extasiado com o enfadonho melodrama.
Quando saímos, os pequenos grupos haviam-se dispersado, e um vento fresco varria os papéis ao longo do pó da calçada. O rapaz de camisa florida estava à
nossa espera.
Peppino apresentou-nos: Mauro West, da Austrália, e Enzo Mahncomco, de Nápoles. Enzo sugeriu que fôssemos a um bar. Respondi que preferia ir à sua casa.
Lançou-me
um rápido olhar, e Peppino explicou, apressadamente, que Enzo morava num apartamento com um amigo. Este ficaria aborrecido por o incomodarmos a hora tão
tardia.
Como a bom entendedor meia palavra basta, propus uma taberna. Enzo preferiu um
restaurante. Estava com fome, trabalhara até tarde. Ebbene, seja o restaurante.
Acomodamo-nos num canto sossegado. Declarei que era eu quem pagava. Peppino e Enzo pediram pizza, eu comentei-me com um copo de vinho. Enquanto esperávamos
pela
pizza, Enzo começou a falar, ao mesmo tempo que eu o observava.
Era um rapaz baixo, de rosto alongado, pele escura como a de um árabe. O cabelo era liso e preto, penteado para trás e colado ao crânio. Usava um lenço
de seda preta
por baixo da camisa florida. As mãos eram pequenas e delicadas, de unhas quebradas e sujas. Na esquerda tinha um grande anel de ouro com um zircão engastado.
Quando
parava de falar, polia a
pedra no peito da camisa. Peppino contou-me mais tarde que tinha dezesseis anos, mas seus olhos aparentavam mais de vinte.
Peppino perguntou-lhe como correra o negócio daquela tarde. Enzo soltou uma gargalhada ruidosa que terminou por torrencial discurso em dialeto. Peppino
explicou-me
que Enzo conseguira uma excelente combinazione.
A outra pessoa em questão era um pederasta - de fato, o amigo com quem vivia. Esse pederasta servia de contato a um grupo de contrabandistas. Naquela tarde,
entregara
a Enzo três pacotes de longos cigarros americanos para que este os vendesse nas ruelas próximas à Piazza Mercato.
Obedientemente, Enzo fora-se com os três pacotes. Chegando à Piazza Mercato, desembaraçara-se deles, vendendo-os a um camarada por cinco mil liras. Esse
preço era
inferior ao do mercado negro, mas Enzo não se importou: todos têm direito a um pequeno lucro, de outro modo ninguém se agüentaria no negócio.
Perguntei inocentemente o que pensava seu amigo daquela transação. Enzo riu de novo, e Peppino explicou que aquilo fora o ponto de partida da combinazione.
Enzo voltara a encontrar-se com o pederasta e disse-lhe com voz trémula que tinha sido apanhado pela polícia, que lhe confiscara os cigarros. O amigo mostrou-se
irritado, mas nada podia fazer. Era um dos riscos do negócio.
Até ali tudo corria bem. Enzo tinha cinco mil liras no bolso. Mas ainda não estava satisfeito. Era um tipo esperto: sabia que o pederasta tinha medo da
polícia,
por muitas razões, de forma que dramatizou a história. A polícia perguntara-lhe onde conseguira os cigarros. Respondera que os tinha comprado de um homem
na rua.
A polícia não se dera por satisfeita. Quem a censuraria por isso? Tomara nota do nome e da residência de Enzo, que teria de apresentar-se na questura, no
dia seguinte,
para ser interrogado.
O pederasta, aterrorizado, queria certificar-se de que Enzo não o denunciaria. Este não tencionava fazê-lo - mas a polícia era rude para com os scugnizzi
e mais
ainda para com os contatos dos contrabandistas. Enzo podia suportar uma certa dose de maus-tratos, mas - de novo o gesto familiar - queria uma compensação
pelo
aborrecimento. O pederasta caíra com vinte mil liras.
Lucro líquido até o momento: vinte e cinco mil.
Enzo e Peppino riram até as lágrimas. Eu ri também. Precisava da história, tinha de pagar com aplausos, se bem que poucos. Mas não era tudo. O pederasta tinha um
temperamento apaixonado, precisava de quem o confortasse. Ainda mais quando estava assustado. Esses tipos são
autênticas
mulheres, capisce?
Capito! Naturalmente Enzo estava disposto a reconfortar o amigo, mas naquela noite sentia-se cansado. Além disso, o relacionamento estava se tornando difícil.
Aquela
ligação com um invertido começava a aborrecê-lo. Já não se sentia feliz. Foram necessárias mais dez mil liras para lhe restituir a paz de espírito.
Lucro líquido: trinta e cinco mil liras. Bella combinazione, non é vero?
Excelente, na verdade. Uma comédia. Ri docilmente. Mas tinha vontade de chorar ou ir vomitar em um canto. Sou um homem normal com desejos normais; mas sentia
pena
daqueles invertidos explorados pelos garotos de Nápoles, de olhos frios e espírito interesseiro. As moças têm mais sorte. Os garotos proporcionam-lhes lucros
e recebem
uma percentagem razoável. Mas os invertidos, que Deus fez um pouco mais do que mulheres e um pouco menos do que homens, têm de pagar sempre, até que sejam
também
forçados a vender-se como as moças dos prostíbulos.
É evidente que o problema pode ser encarado sob outro aspecto. Nem todos os garotos maltrapilhos eram tão sagazes como Enzo. Nem todos eram tão velhos e
tão ricos
em experiência. Eram estes as vítimas dos pederastas que lhes tiravam os últimos restos de inocência e os envolviam em negócios escusos, ameaçando-os com
a polícia
ou incutindo-lhes o medo do ridículo em face dos companheiros. Nesse mundo sombrio, à margem da humanidade, quem era eu para julgar e dizer que este merece
piedade
e aquele, rigoroso castigo?
Além disso, não era hora para julgar. Pouco a pouco, com prudente lisonja, Peppino foi arrancando a Enzo a história de sua vida. Eu escutava, fascinado.
A história
de Enzo Malinconico era a de milhares de outros garotos. Seu drama era o de todas as crianças abandonadas, anónimas, incontáveis, conhecidas por scugnizzi:
os selvagens,
atormentados garotos de Nápoles.
Enzo Malinconico era o segundo filho de um padeiro que vivia ao norte da Via Santa Teresa. O pai, apesar de velho, era diligente, e a mãe, ainda jovem,
combinação
comum no Mezzogiorno, onde muitas vezes os velhos eram os únicos pretendentes com possibilidades de casar. Quando Enzo completou dez anos, a mãe arranjou
um amante.
Antes dos onze anos, o pai descobriu, ficou louco de ciúme e suicidou-se, lançando-se no próprio forno. Do pai, Enzo falava com indiferença. Mas
quando se referia à mãe, tratava-a de putana - um expressivo palavrão da Itália.
Logo após o suicídio do pai, a mãe e o amante casaram-se. Não era um lar muito feliz. A mãe era uma megera que espicaçava os dois filhos e o novo marido,
aguilhoando-os
porque não ganhavam o suficiente e troçando deles por viverem " à custa de uma mulher". Ela própria vendia cigarros de contrabando e, por conseguinte, era
uma mulher
com alguns meios!
Por último, o segundo marido também se suicidou, e Enzo e o irmão foram obrigados a prover as necessidades da casa. O irmão começou a vender contrabando.
Quando
a polícia o apanhou e lhe confiscou a mercadoria, foi trabalhar no mercado. Aí entrou em contato com um pequeno bando que roubava caixas de frutas e as vendia
mais
tarde nos arredores de Baiae e da Porta di Capua. Finalmente a polícia voltou a apanhá-lo e mandou-o para a severa casa de correção da ilhota de Nisida.
Enzo estava agora só com a mãe. Ainda não tinha onze anos. A mãe meteu-o como aprendiz numa carpintaria local. Varria o chão, preparava a cola e transportava
madeira
das oito da manhã às oito da noite. Depois do trabalho, à noite, a mãe enchialhe os bolsos de cigarros de contrabando e mandava-o vendêlos até depois da
meia-noite.
Um dia, Enzo fugiu de casa para não voltar. Todas as histórias que ouvi acerca dos scugnizzi de Nápoles
- e colecionei uma centena delas no decorrer de minhas investigações - terminavam de maneira idêntica: fugir de casa para não voltar.
Note-se que não era a fome que os levava a fugir, nem a crueldade, como no caso de Enzo Malinconico. Às vezes era a superlotação do lar, a impossibilidade
de viver
num quarto cheio de bebés chorões, de velhos tagarelas, de pais que brigam. A maior parte das vezes, porém, era o intolerável fardo do trabalho e da responsabilidade
familiar colocado em seus débeis ombros.
Assim como as meninas são forçadas a tornar-se donas de casa quando deviam brincar ainda com bonecas, os meninos são forçados a ganhar o pão antes de saber
o que
é ser criança, como me disse um dia o padre Borelli: "São demasiado homens para continuarem crianças e demasiado crianças para serem homens". Seu corpo fica
atrofiado
por esse brutal desenvolvimento psicológico, e sua mente, irremediavelmente atingida por esse prematuro choque com a vida adulta.
Quando finalmente se decidem a abandonar o lar, é porque chegaram à seguinte conclusão: "Sou quem ganha o pão. Esta família vive à minha custa. Não me
dá nada e
tira-me tudo. Sou um homem. É melhor viver como um homem - sozinho e gozar o fruto de meu trabalho".
Enzo Malinconico saiu de casa com os bolsos cheios de cigarros e umas centenas de liras. Não era uma fortuna, mas bastava para encher o estômago e comprar
a aceitação
num dos pequenos grupos de rapazes que angariavam clientes para o casino. Naquela noite dormiu com eles numa pilha de madeira,
junto à Via Marittima. No dia seguinte desentendeu-se com o bando e roubaram-lhe os cigarros. Estava só, e ainda se sentia criança o bastante para chorar.
Uma prostituta de nome Filomena compadeceu-se dele e obrigou-o a ir dormir em seu quarto. Sua alcunha napolitana era Zizzachiona ("Mamuda") e sua clientela
era composta
de trabalhadores das docas e marinheiros dos barcos estrangeiros. Enzo Malinconico viveu com ela dois anos. Servia-lhe de alcoviteiro e recebia a percentagem
habitual.
Quando o último cliente saía, insinuava-se na cama e dormia com ela. Assim se iniciou nos requintes do ato sexual e conheceu, uma vez mais, a venalidade
das mulheres
e o grau de corrupção dos homens. Também aprendeu que um indivíduo esperto pode tirar proveito de umas e outros. Quando se separou de Zizzachiona tinha
treze anos.
Nos últimos três anos evoluíra do roubo das lavanderias e de punguistas para o mais vasto e proveitoso comércio da Sala Roma. Por intermédio do pederasta,
esperava
ser apresentado a um homem que precisava de mensageiros para viagens regulares a Roma, Milão e Florença. O trabalho era simples e bem pago. Confiavam-lhe
um pacote
e um endereço. Entregava o pacote e regressava.
Quando lhe perguntei o que havia nos pacotes, Enzo levou um dedo ao nariz, dando-se artes de sagacidade:
- Chi sã? Neste negócio, aquele que fala menos é o que ganha mais. Non è vero?
Sorri e disse:
- Sicuro! - sem insistir no assunto.
Os vícios dos romanos ricos não me diziam respeito. Estava mais interessado em Enzo Malinconico e no futuro que o esperava. Perguntei-lhe:
- Vê-se que as coisas correm bem para você. Tem jeito para os negócios. Mas e mais tarde? Onde irá parar? Em Nisida com seu irmão?
O olhar de Enzo tornou-se sombrio. Cerrou os punhos. Apesar de sua impudente confiança, no fundo de seu mirrado coraçãozinho tinha medo. Quem poderia censurá-lo?
Tinha apenas dezesseis anos. Disse-me:
- Meu irmão teve pouca sorte. Foi traído por um imbecil. Eu não acabarei assim.
- Como, então?
- Dentro de um ano, no máximo dois, terei dinheiro suficiente para alugar um apartamento no Vomero. Um dos mais modernos, com quatro quartos e telefone.
Depois,
é só arranjar algumas moças, não as putane das ruas, claro, mas moças com classe e distinção, que se vistam bem e falem corretamente. Montaremos um negócio
para
turistas, teremos contato com os melhores hotéis, apenas os melhores, capisce?
- Quer dizer uma casa. d'appuntamento?
- Saenz'altro! Certamente! Dentro de seis meses, os casini serão fechados em virtude da nova lei que está em discussão na Câmara. Então haverá oportunidade
para
um negócio de luxo.
- E a polícia?
- A polícia! - exclamou Enzo, cuspindo desdenhosamente no chão. - Como julga que funcionam atualmente as outras casas? Quando se está decidido a pagar,
pode-se conseguir
tudo em Nápoles. com quatro moças numa casa de luxo não me será difícil comprar mesmo a polícia. Não acredita?
Encolhi os ombros e estendi as mãos à maneira do sul; de nada servia acreditar ou não. Se Enzo Malinconico ignorava seu próprio negócio, quem era eu para
lhe ensinar?
Se estava em erro, haveria sempre Nisida, a ilha de pedra cinzenta, no fim do longo caminho. Não estaria só. Encontraria o irmão e, com ele, muitos outros
garotos
dos bassi dessa condenada e sombria cidade.
Passava da meia-noite quando deixamos Enzo Malinconico e prosseguimos nossa caminhada através das estreitas ruelas, em direção à área das docas, a fim de
fazermos
a ronda de outra série de tugúrios.
Pouco falávamos. Peppino parecia extremamente chocado por seu encontro com Enzo Malinconico. Era como se tivesse ouvido de novo o apelo das ruas e o sentisse
vibrar
no coração, se bem que a razão e a experiência lhe dissessem que responder a ele só lhe traria amargura e desilusão. Eu estava ocupado
com outro problema: como fazer compreender a esse povo que o que queria dizer-lhe acerca de sua cidade era verdadeiro?
Como convencer essa gente de que a vida dos bassi e dos tugúrios parecia normal a centenas de milhares de pessoas? Como provar que a história de Enzo Malinconico
se repetia mil vezes nessa grande cidade marítima por onde tinham passado os gregos, os romanos, os espanhóis e os franceses, e também os americanos e os
spahis
do Marrocos, e onde cada um deles deixara por herança às crianças os pecados de seu país? Quando falasse dos casini e das casas de encontros, quem compreenderia
que eu visitara vinte em outras tantas noites, com a porta iluminada e os garotos da rua atropelando-se para oferecer seus serviços?
Este livro seria lido pela alta sociedade de Londres, de Ohio e de Melbourne, cujos filhos dormem sadiamente em lençóis brancos, com ursinhos ou uma boneca
favorita
estreitados nos braços. Acreditariam em mim quando lhes contasse que milhares de crianças brincam em ruelas imundas até a meia-noite e que centenas dormem
nas portas
das ruas e nos gradeamentos de ferro?
Como poderiam acreditar-me em Nova York, quando aqui, na própria Nápoles, há turistas e certos habitantes que sorriem com delicada descrença quando lhes
conto o
que vi? Não os censuro. Os turistas vivem nos luxuosos hotéis modernos da Via Caracciolo. Os habitantes residem nas vivendas de Posillipo ou nos apartamentos
de
pós-guerra do Vomero. Vêem apenas a Via Roma, San Cario e a vasta praça em frente da estação. Quando o sol brilha, partem para Capri, Ischia ou para os
laranjais
de Sorrento. Os turistas procuram o prazer. Os habitantes querem uma vida confortável para si e para os filhos. Como poderiam dormir em paz, se soubessem
do mundo
pestilento que começa a vinte metros das luzes da Via Roma e acaba nas horrendas ruínas próximas de San Giovanni?
De repente, Peppino deteve-se e puxou-me por uma manga. Apontou para um estreito arco, onde havia um velho poço com cobertura de pedra do qual os moradores
dos
quartos próximos tiravam água num balde de madeira suspenso por uma corrente enferrujada.
No exíguo espaço entre o poço e a entrada do arco dormia uma criança, um garoto de seis ou sete anos. Tinha como única roupa uma camiseta esfarrapada e
uma calça
remendada que lhe chegava ao meio das pernas. Estava deitado de lado, com os joelhos esqueléticos tocando no queixo, numa posição fetal.
Aproximamo-nos. Peppino acendeu um fósforo. À débil chama amarela, vi o cabelo emaranhado, a cara suja e manchas arroxeadas de frio nos débeis membros.
Lágrimas
ardentes queimaram-me as pálpebras. Peppino olhou para mim. Acenei com a cabeça, mas não pude falar. O fósforo consumiu-se. Peppino passou-me a caixa e
fez-me sinal
para que acendesse outro. Depois, ajoelhou-se e acordou o garoto.
Este ergueu-se em sobressalto - uma criança de aspecto lamentável, olhos assustados, músculos tensos como um animal acossado. Se Peppino não o detivesse,
teria desaparecido
nas trevas. Pude ver-lhe o esquelético peito arfar sob as esfarrapadas roupas. Fui acendendo fósforos um atrás do outro, enquanto Peppino lhe falava suavemente:
- De onde vem?
- De Roma.
- Roma?
O próprio Peppino ficou boquiaberto. Roma ficava a duzentos e quarenta quilômetros de distância. Mas quando repetiu a pergunta, o garoto confirmou vigorosamente:
- De Roma!
- Como chegou aqui? A pé, ao que parecia.
- Todo o caminho?
Mais ou menos. Conseguira uma ou outra carona em carroças. Depois, tentou o trem, mas expulsaram-no. Por último, metera-se pelos túneis e assim chegara
à cidade.
O soterraneo! Peppino meneou a cabeça. Aquilo era demasiado horroroso, mesmo para ele que conhecia, melhor do que ninguém, as terríveis vicissitudes da
vida dos
garotos da rua. De novo falou ao garoto, dizendo-lhe que havia um lugar onde poderia dormir numa cama e saborear boa comida; um lugar onde as pessoas seriam
carinhosas.
Gostaria de ir para lá? O garoto recusou. Começou a debater-se desesperadamente, como um pássaro aprisionado. Devagar, com paciência, Peppino conseguiu
acalmá-lo,
fazendo-o passar do pânico às lágrimas e das lágrimas à dúvida maravilhada. Por fim, concordou em segui-lo.
Pela primeira vez em Nápoles, senti-me feliz por ser de estatura elevada. Ergui o minúsculo corpo nos braços e transporteio durante o caminho até à Casa
dos Meninos.
E foi assim que vim a conhecer Antonino, a criança que, desde então, não deixou de povoar meus pesadelos.
Livro segundo
Luz nas trevas
Capítulo primeiro
Agora, quero apresentar um homem.
É baixo, como todos os napolitanos: mede pouco mais de um metro e sessenta. O corpo é firme, sólido e compacto. Os pés são pequenos e as mãos também, mas
calejadas
e rudes como as de um trabalhador. Tem as orelhas em asa de cântaro e cabelos encaracolados, estranhamente claros para um homem do sul.
O rosto é magro, e os lábios finos da boca enorme abrem-se, por vezes, num sorriso travesso, ou fecham-se como aranha irritada. O nariz aquilino, quebrado
e torcido
para um lado, e os olhos vivos e inteligentes dão-lhe um aspecto curioso de ave.
A voz é bem timbrada e vibra de convicção. Quando fala de Nápoles e das crianças da cidade, emprega uma linguagem plena de poesia, concisa e vigorosa. Quando
se
exprime em dialeto, seu sotaque é o dos bassi de onde saiu e cujos horrores experimentou na própria carne.
Tem trinta e cinco anos e chama-se Mário Borelli. De todos os homens que encontrei, é este o que mais qualidades humanas possui.
É além disso padre; mas a longa batina e o grande chapéu em forma de travessa combinam-se mal com seu rosto de arruaceiro. É tão bom padre como bom homem.
Depois
de o conhecermos melhor, convencemo-nos de que é um grande homem.
Mário Borelli era filho de um operário dos bairros pobres de Nápoles. Era um dos dez filhos que viviam, como tantos outros, nas casas superlotadas e insalubres
das
ruelas.
Quando a guerra começou, era seminarista, em nada diferente, tanto quanto pude verificar, de qualquer um dos pálidos adolescentes que hoje se vêem nos antiquados
seminários da cidade de Nápoles.
Quando a guerra acabou, já era padre - um entre as centenas que se vêem diariamente palmilhando as ruas em sua batina preta coberta de pó, pregando sermões
dominicais
ao deplorável rebanho de fiéis, sentando-se no sombrio e malcheiroso confessionário para ouvir a semanal litania de pecados, ajudando os moribundos a libertar-se
das vaidades deste mundo, batizando as crianças que nele nascem em condições desesperadas.
Foram maus dias para Nápoles, esses em que a cidade se abandonou à inércia da derrota, em que as moças se prostituíam para conseguir pão dos conquistadores,
e em
que os homens o comeram com amargura. Foram maus dias para a cidade, esses em que a palavra de Deus era uma farsa hedionda: para os humildes duas vezes
traídos;
para os poderosos, dispostos a nova
traição.
Como pregar o Sermão da Montanha aos pobres esfomeados e desiludidos? "Bem-aventurados os humildes. . . ", quando somente os fortes e os desumanos conseguiam
sobreviver?
"Bem-aventurados os misericordiosos. . . ", quando os conquistadores comem chocolate, enquanto as crianças choram por pão? "Bem-aventurados os puros de
coração.
. ", quando os pais vendem as filhas às tropas aliadas? "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. . . ", quando todos sentem o estômago vazio,
e o frio
das ruínas lhes gela os ossos?
Não é de admirar que os padres novos se desesperem.e os velhos regressem à apatia do formalismo, que é o desespero dos
idosos.
Por volta de 1950, a cidade começou a refazer-se. Foi o início da ordem, a redistribuição do trabalho. Mas os vestígios da guerra erguiam-se por toda parte.
Eu estava
ali, vi-os. Deus sabe que a situação atual é bastante má, mas então era muito pior. A corrupção das crianças, a falta de casas, o desespero, impunham-se
mesmo para
os turistas. Agora, tudo isso é menos evidente - o visitante de nada se aperceberá se for instalar-se na Via Caracciolo e deixar que os guias turísticos
o levem
para
longe dos bassi.
Em 1950, Mário Borelli iniciou sua obra. Quando lhe perguntei como e por quê, encolheu significativamente os ombros:
- Eu estava irritado, amargurado. Sabia que não me era possível continuar padre, a menos que realizasse uma obra de padre. Não podia abeirar-me do altar
e erguer
nas mãos o corpo de Deus, enquanto Seus filhos dormiam nas ruas e nos gradeamentos da Piazza Mercato.
- Por que as crianças? - perguntei.
74
Olhou-me estupefato.
- Valha-nos Deus! Quem haveria de ser? A situação é bastante má para os homens e as mulheres, mas para as crianças é um pesadelo! Por quem começar, senão
pelos menores?
- Como foi o início?
Respondeu-me com um sorriso de esguelha, à napolitana, e encolheu expressivamente os ombros:
- Isso, meu amigo, é uma longa história.
Então iniciou o relato. Mas a narrativa que reproduzo aqui não é a do padre Borelli. Homem discreto e leal que é, tem de ser prudente. São poucos os que
em Nápoles
o ajudam: continua a depender de um mínimo de caridade e do auxílio esporádico dos ricos, além de uma pequena contribuição de Roma. Não se pode permitir dizer
tudo.
Seus meninos ainda precisam dele. Ofereceu-lhes um lar e uma esperança. Mas ainda, neste ano de 1956, estão a dois passos das ruas sombrias a que ele os
arrebatou.
Um dia, no início de 1950, Mano Borelli apresentou-se para uma entrevista com seu superior eclesiástico, o cardeal'Ascalesi, arcebispo de Nápoles e primaz
do Mezzogiorno.
Lembro-me de que tinha então vinte e oito anos esse jovem dos bassi, com o óleo da consagração ainda fresco nos dedos nervosos. Ascalesi era um ancião,
conhecedor
do mundo e dos problemas da Igreja, sobrecarregado pelas múltiplas misérias de seu povo, pelas intrigas políticas, e que tentava desesperadamente agüentar
a vacilante
Igreja do sul nos ombros cansados.
Escutou com benevolência a pretensão que Borelli lhe expunha. Era muito estranha, na verdade. Queria despir a.batina, ir viver nas ruas com os scugmzzi.
Queria
compreender-lhes a existência, a psicologia, tornar-se amigo deles e, um dia talvez, convencê-los a segui-lo e ensiná-los a viver decentemente.
O velho cardeal cerrou os lábios finos e franziu as sobrancelhas. Talvez houvesse, naquele jovem padre, um pouco de heresia ou, pelo menos, de orgulho,
o que destruiria
ao mesmo tempo a obra e o padre. A vida das ruas era ignóbil e diabólica, assente no pecado da venalidade e da carne. Como poderia um homem inexperiente
lançar-se
nela e permanecer puro? De tudo isso deu conta a Borelli.
A resposta do jovem foi simples, há muito já a tinha preparada:
"Desde que entrei no seminário, ensinaram-me que o padre deve ser alter Christus... outro Cristo. Está escrito nos Evangelhos que Cristo comeu e bebeu
com ladrões
e meretrizes. Como pode um padre pecar, se fizer o mesmo? Como pode ser outro Cristo, se recusa ir ao encontro daqueles que não têm
pastor?"
Ascalesi estava comovido. com mais homens daquela têmpera teria conseguido reformar a Igreja do sul; mas agora era tarde, começava a sentir-se velho. Meneou
a cabeça:
- Não, meu filho, não! Antes de empreender novos trabalhos como esse, devemos pôr em ordem o que já fizemos: as paróquias, as escolas, os orfanatos. É
trabalho
para você. Faça-o e acredite que servirá a Deus como Ele quer ser servido.
Borelli sentiu a ira apossar-se de si. Como num bom napolitano, esta era pronta e irreprimível.
"Vossa eminência não compreende! Como o compreenderia, se não sabe do que falo? Trata-se de crianças, de filhos de Cristo! Dormem nos stuffarelle e na
cama das
prostitutas. Servem de alcoviteiros, roubam e deixam-se arrastar para o crime e a violência. Vivem como animais na selva, sem amizade nem apoio. E vossa
eminência
diz-me que os esqueça! Em troca de quê? Daqueles que já têm fé? Daqueles que têm um teto? Daqueles que recebem cuidados nos orfanatos? Não! Se a Igreja
recusa essa
tarefa é porque não é a Igreja de Deus!"
Sentado em sua poltrona, velho, grisalho e majestoso, o cardeal observou aquele jovem e pequeno companheiro que o desafiava e desafiava também a antiga
autoridade
da Igreja de que era representante.
Em que pensava? Em Paulo opondo-se a Pedro, porque este apoiava os judeus quando os gentios ansiavam pela fé? No francês Vicente que se fizera galeriano
para se
juntar aos esquecidos e aflitos? No suave Francisco, cujos ombros delicados sustentaram a vacilante Igreja, nos tempos antigos? Nas reformas que não fizera
porque
lhe faltaram forças e homens que o ajudassem? Nunca o saberemos, pois já não é deste mundo.
Pálido e trémulo, Borelli esperou. Para ele, também, era um momento crucial. Se ser padre de Cristo significava desamparar os filhos de Cristo, então não
queria
ser padre. Parecia-lhe ter passado um século desde que o ancião se calara até falar de novo, numa voz estranhamente suave.
"Salvar as crianças é uma coisa; tirá-las das ruas e dar-lhes um teto é uma obra que só posso aprovar. Mas quanto a
viver com elas nas ruas, tomando parte, por assim dizer, em seus crimes, é que já não compreendo. O que o leva a isso?"
Borelli serenou um pouco. Ainda havia uma esperança. Soltou um profundo suspiro e embrenhou-se em sua explicação:
"Vossa eminência deve saber o que é a vida das ruas e o que faz dessas crianças. Deve saber que ser scugnizzo é ter alma de homem num corpo de criança.
É ter sofrido
no corpo a violação da inocência, as agruras da fome, o frio e a solidão da cidade. Ser scugnizzo é viver sem amor, não confiar em ninguém, porque aquele
em que
confiar lhe roubará o pão da boca ou os cigarros do bolso. Ser scugnizzo é saber que todas as mulheres são prostitutas e todos os homens, ladrões, que todos
os policiais
são sádicos e os padres, mentirosos. Se eu me apresentasse no meio deles, tal como estou agora, iriam rir de mim ou cuspirme na cara. Se lhes oferecesse
um lar,
iriam dizer-me que os carabinieri também o fazem. . . numa casa de correção. Nunca conseguiria abeirar-me deles. Acredite, eminência. . . " A voz tremia-lhe;
estendeu
os braços num gesto de súplica apaixonada. "Acredite! Nasci nos bassi... Sei!"
O cardeal Ascalesi, sentado em sua poltrona, meditava. Uma vez na vida, se tiver sorte, duas vezes, se se beneficiar de uma graça extraordinária, um prelado
encontra
entre seu clero um homem tão evidentemente marcado por Deus que virar-lhes as costas seria como que virá-las ao próprio Cristo. Borelli era um desses homens.
Sua
pretensão era estranha, mas igualmente simples; nova e, no entanto, velha como o Evangelho. Não devia ser negada irrefletidamente nem aceita com ligeireza.
O ancião juntou as extremidades dos dedos, mordeu os lábios descorados. Depois, lenta e decididamente, proferiu seu veredicto:
"Preciso de tempo para pensar no caso. Venha ver-me dentro de dez dias. Entretanto. . . " A voz hesitou, os olhos cansados suavizaram-se. "Entretanto, reze
por mim,
meu filho. Reze por nós. Pode retirar-se".
Mário Borelli saiu para a luz poeirenta da cidade, confuso e insatisfeito. Era demasiado jovem para compreender como tinha tocado profundamente o coração
de Ascalesi.
Estava demasiado inquieto para perceber que se abeirava do êxito. Além disso, era napolitano e sabia que muitas vezes um delicado adiamento significava
uma recusa
definitiva.
Descobriu então o que eu próprio vim a descobrir em minha breve experiência: para todos os que não observaram diretamente a vida nos basst e a situação
das crianças,
tudo isso se
assemelha a um bizarro pesadelo, a uma peça dramática que não deve ser tomada a sério.
O cardeal reinava em seu grande palácio, rodeado por discretos e sutis conselheiros, atidos à burocracia da Igreja. Como podia compreender o que se passava
nas ruas?
O problema estava precisamente em fazê-lo compreender, de maneira tão clara que nenhum conselheiro pudesse dissuadi-lo.
Mário Borelli foi para casa e orou. Naquela noite, enquanto estava estendido na estreita cama sem conseguir dormir, uma idéia o assaltou. Olhou para o relógio.
Ainda
faltava uma hora para a meia-noite. Ainda havia tempo bastante para contatar o homem de que precisava. Num alvoroço, deslizou do leito, vestiu-se, saiu de
casa e
correu para o bar mais próximo, a fim de fazer uma chamada telefónica.
Uma hora mais tarde estava tomando café e conversando animadamente com um fotógrafo de um diário napolitano. O projeto que planejavam era de extraordinária
simplicidade.
Nos dez dias seguintes, Borelli e o fotógrafo percorreriam a cidade juntos. Fotografariam o que vissem: os desalojados que dormiam nas ruas, os bandos de
garotos
que cozinhavam nas vielas, os interrogatórios noturnos na questura. Depois, mostrariam as fotografias ao cardeal Ascalesi.
Dez dias mais tarde, Mário Borelli encontrava-se de novo na presença do velho prelado, que analisava as lustrosas cópias fotográficas espalhadas em sua mesa.^O
rosto
do cardeal estava transtornado, e os olhos, inundados de compassivas lágrimas à vista daqueles terríveis testemunhos. Depois endireitou-se bruscamente e
cobriu com
as mãos as fotografias como se quisesse expulsálas da memória. Seus lábios descorados comprimiram-se sob o efeito da ira. Quando falou, havia em sua voz
um tom
de profunda convicção:
"Mesmo que não me tivesse mostrado isto, eu o teria autorizado a empreender sua obra. Agora que vi, estou duplamente convencido de que é uma obra meritória.
Mas.
. " Ascalesi calou-se, e Borelli esperou nervosamente a continuação. "Mas continuo a pensar que é uma tarefa cheia de perigos, no plano espiritual, para
o homem
que assumir sua responsabilidade." Borelli concordou com um aceno. Sabia-o muito bem. Era napolitano - jovem e de sangue ardente. Como iriam seus votos
sacerdotais
resistir ao choque com a brutal sensualidade das ruas? Era uma pergunta que fizera a si mesmo muitas vezes. "Por isso", continuou Ascalesi, "acho que seria
boa
idéia um companheiro, não necessariamente para essa peregrinação
pelas ruas, mas para a realização do projeto em geral. Terá de ser um amigo e um conselheiro, de forma que deixo a seu critério escolhê-lo e recomendar-me.
Eu o
substituirei em seu atual posto e passará a ser seu adjunto." O rosto do ancião abriu-se num afetuoso sorriso. "Davi sai ao encontro de Golias, nas ruas
de Nápoles,
de modo que precisará de um Jônatas que o anime. Non é vero;"'
O rosto tenso de Borelli desanuviou-se num sorriso engraçado. Sentia-se liberto e feliz e, como os de sua raça, apetecia-lhe gritar, cantar e contar ao mundo
inteiro.
Mas o cardeal era um grande homem que merecia profundo respeito. Por isso, Borelli refreou a alegria e começou a falar ao cardeal sobre seu amigo Spada,
jovem padre
como ele da Diocese de Nápoles. Não era, como Borelli, um homem impulsivo e batalhador, mas sua alma transbordava de amor pelas crianças, e quando os garotos
da
rua chegassem um dia ao lar que esperavam oferecer-lhes teriam grande necessidade de amor e cuidados paternais.
O cardeal aprovou aquela maneira de pensar, depois mudou de assunto. Hora e meia mais tarde, Mano Borelli estava nas ruas da cidade e olhava à sua volta.
Era agora
a sua cidade, e aquelas crianças eram os seus filhos. . . Se falhasse, não haveria mais ninguém a quem pudesse dirigir-se. Estremeceu, apesar do sol ardente.
Sentiu-se
de súbito só e receoso.
Entrou numa velha igreja e ajoelhou-se em oração, durante muito tempo.
Passados dias, os scugnizzi da Piazza Mercato observavam com ar intrigado um estranho. Subia uma das ruas que partem do porto, apanhando guimbas pelo caminho.
Vestia
uma camisa imunda remendada em vários lugares. As pernas das calças caíam sobre uns sapatos desiguais, com o couro gretado e as costuras rebentadas. As
mãos estavam
manchadas de óleo e nicotina. Tinha o rosto sujo, mal barbeado, e usava um boné sebento, atirado para a nuca.
Deteve-se à esquina da piazza, encostou-se à parede, tirou do bolso meio cigarro e acendeu-o com um fósforo de cera que riscou na pedra. Pôs-se a fumar
lentamente,
encostado à aresta da parede, de pernas cruzadas, avaliando com olhos brilhantes o comércio que se fazia ali.
Os garotos examinaram-no com minúcia, notando-lhe o nariz partido, os lábios cerrados e o insolente boné. Um autêntico giMppo - arrogante, brigão e talvez
perigoso.
Nunca o tinham
visto. Queriam saber de onde vinha, se estava só ou se era espião de um dos grupos que operavam nas docas. Vendia ou comprava? Servia de intermediário,
estudando
o comércio por conta de outro? No mundo dos scugnizzi, essas perguntas eram importantes, intimamente relacionadas com a economia política do meio. Era preciso
descobrir
as respostas o mais cedo possível. Deixaram-no fumar durante algum tempo, seguindo-lhe atentamente todos os gestos. Viram que segurava o cigarro_entre o
polegar
e o indicador, que expelia a fumaça pelo canto da boca, que cuspia no charco a seus pés, que assoava o nariz" apertando-o entre dois dedos, que depois limpava
na
manga, que coçava o traseiro e os sovacos como um homem acostumado a ter piolhos na roupa.
Não havia dúvidas: era um deles. Chegara o momento de travarem conhecimento.
Um jovem magricela de rosto escuro de árabe destacou-se de um dos grupos de vadios e bamboleou-se através da Piazza Mercato. De soslaio, Borelli observava-o.
Seu
estômago apertou-se um pouco, mas nenhum lampejo de medo fulgiu em seus olhos brilhantes. O jovem aproximou-se, apanhou um maço de cigarros americanos, meteu
um na
boca e, guardando o maço no bolso, pediu um fósforo. Borelli tirou a guimba dos lábios e encostou-a à extremidade do cigarro do outro. Depois voltou a apertá-la
entre os lábios. Não se moveu de sua posição descuidada.
O jovem grunhiu um agradecimento e encostou-se à parede, ao lado de Borelli. Falou pelo canto da boca, no dialeto modulado e cantante de Nápoles: "Nunca
o vi antes.
.
Borelli encolheu os ombros expressivamente. "Nápoles é uma grande cidade. Eu também nunca o vi." O jovem moreno expeliu uma nuvem de fumaça e refletiu por
momentos.
O sotaque era correto, as palavras estavam certas. Não se pode imitar o calão das ruas. As atitudes condiziam, também. O cara era um autêntico guappo. Impossível
confundilo. Era melhor levá-lo amavelmente. "Anda em negócios?" "De certo modo." "Tem contatos?"
Borelli inclinou a cabeça para o lado e esboçou um gesto. "Os suficientes, para mim." "Que gênero de contatos?"
Sem pressa, Borelli procurou nos bolsos e tirou sucessivamente um maço de cigarros americanos, um anel barato com pedra falsa, uma nota de dólar e uma agenda
imunda
com alguns nomes rabiscados e números de telefone. O jovem lançou uma olhadela a tudo aquilo e depois acenou aprovadoramente com a cabeça. Contrabando,
roubo,
receptação, algumas moças. Era bastante para um homem. Não havia dúvida de que este sabia olhar por si. Mas havia qualquer coisa que tinha de esclarecer:
"Nunca esteve na gaiola?"
Borelli sorriu desdenhosamente e cuspiu no chão.
"Ainda não. Mas preciso mudar de ares."
Ah! Chegara enfim ao essencial. A polizia andava na pegada do cara de forma que tivera de mudar de campo. Isso o tornava mais abordável, mais disposto a
aceitar
uma proposta. O jovem procurou no bolso e tirou seu maço de cigarros.
"Tome, tire um dos meus."
Cuidadosamente, Borelli esmagou sua guimba e meteu-a no bolso com as coisas restantes. Depois retirou um cigarro do maço oferecido..
"Obrigado."
"Como se chama?"
"Mario."
"Eu me chamo Carlucciello. Dirijo as coisas por aqui." Indicou, com um gesto largo, a mísera azáfama da Piazza Mercato. "Quer conhecer alguns rapazes?"
"Seria um prazer."
Mario Borelli afastou-se da parede, puxou para cima o cinto e atravessou, descuidado, a praça apinhada, seguido de Carlucciello. O rosto conservava a máscara
de
arrogante indiferença que o guappo exibe sempre aos companheiros. Mas, no fundo, tremia como um garoto de escola. Passara no primeiro teste. Fora aceito.
Mario Borelli tornou-se um scugnizzo.
A partir de então, sua vida foi uma grotesca paródia da normal existência humana. Entrara para o reino dos mendigos. Copiara-lhes o vestuário, a linguagem,
os hábitos.
Teria de recorrer também a seus expedientes e estratagemas para se manter vivo.
O bando da Piazza Mercato aceitara-o. Teria de participar de sua dura existência. Teria de aceitar seus riscos e seus pervertidos códigos de honra.
O moralista tornou-se cúmplice de ladrões.
Quando os mais ágeis escalavam as varandas para roubar roupas a secar, utensílios ou as míseras jóias dos pobres, Borelli vigiava e dava o alarme assobiando.
Quando
vendiam os produtos dos roubos aos receptadores, Borelli juntava sua voz à daquele que mercadejava, esforçando-se por conseguir menor preço. Quando os garotos
eram
perseguidos pelos chefes de família furiosos ou pela polícia, Borelli carregava sua parte do espólio e corria como um animal acossado. Comia o pão adquirido
com
o dinheiro roubado das caixas das esmolas. Vendia cigarros de contrabando ou furtados dos automóveis americanos. O homem casto juntou-se aos alcoviteiros.
Fazia
parte dos grupos dançantes que arrastavam os soldados estrangeiros para os casini.
Quando as moças assomavam às varandas ou à porta de seus miseráveis quartos, conversava e brincava com elas. Recebia sua parte do dinheiro que era pago,
como comissão,
pelos patrões dos bordéis e pelos protetores particulares. O padre transformou-se em mendigo. Postava-se com os garotos à saída das agências turísticas,
mendigando
cigarros. Carregava bagagens e atropelava os outros para apanhar as gorjetas. Colecionava guimbas, que desfazia para vender o tabaco às fábricas clandestinas.
Abria
as portas dos carros à saída do teatro e era empurrado e acotovelado pelas pessoas elegantes que se sentiam incomodadas com sua sujeira. Quando soava a
meia-noite,
terminados os negócios do dia, ia acocorar-se com os scugnizzi em torno de uma fogueira de cavacos, aquecendo restos de comida e conversando no calão das
ruas.
Dormia apertado contra eles para ter calor, debaixo de uma escada ou nos cantos dos pátios, onde há menos vento. Levou essa vida durante quatro meses, e
ainda se
lhe notam vestígios. Quando lhe pedi pormenores de sua existência de vagabundo, encolheu os ombros com ar embaraçado e recusou-se a responder-me alegando
que era
fastidioso. Sentia-se constrangido. Preferia olhar para o futuro, não para o passado. O que soube a seu respeito foi-me contado pelos garotos que partilharam
sua
atribulada existência das ruas e aos quais prodigalizava todo o seu amor.
Irrita-se quando alguém faz uma observação desdenhosa acerca dos pobres ou do sórdido comércio de Nápoles. Fala com indulgência digna de Cristo das moças
dos bordéis
e de seus quartos miseráveis; sua veemente indignação vai para os que se aproveitam daquele tráfico de carne e de miséria.
No entanto, foi-me preciso sondar mais profunda e brutalmente para tocar na verdadeira ferida. Ainda não está cicatrizada e creio que nunca o estará.
Como padre católico, Borelli acredita e ensina que os fins não justificam os meios, que não é lícito praticar uma má ação, mesmo se o objetivo é realizar
uma coisa
digna.
Um dia, disse-lhe bruscamente:
"Don Borelli, o senhor é padre. Como consegue conciliar sua consciência com seus atos de scugnizzo?"
Lançou-me um olhar perscrutador. Fora entrevistado por muitas pessoas, mas era eu o primeiro, sem dúvida, que tocava tão abertamente no âmago do problema.
Levou
algum tempo a responder e, quando o fez, foi com meticuloso cuidado, como se tentasse explicar seu caso não a mim, mas a si próprio.
"Procurei, tanto quanto possível, afastar-me do pecado direto. Por exemplo, nunca roubei. Nunca seqüestrei pessoalmente uma moça. É claro que participei
no ato,
mas esforceime sempre por reduzir minha participação a uma simples aparência, afastando-me na medida do possível da substância do ato."
"Mas, na realidade, participou dele?"
"Participei."
"E gozou os frutos do ato?"
"Gozei."
"Era justificável aos olhos da lei e de sua consciência?"
Borelli passou a mão cansada pelos cabelos e olhou-me francamente. Sentia-me envergonhado por minha insistência, mas, se queria conhecer a verdade daquele
homem,
precisava da resposta. Deu-a com serenidade.
"Em parte era justificável, sim, precisamente no limite extremo entre o bem e o mal. Mas tinha-me comprometido e não podia recuar. Era necessário agir de
acordo
com meu discernimento e confiar na misericórdia de Deus. Mesmo as-
sim.
Interrompeu-se e baixou os olhos para as palmas calejadas.
"Mesmo assim?. . . "
"Mesmo assim", continuou don Borelli suavemente, "houve momentos em que me senti um scugnizzo e não um padre."
Não perguntei, pois não me assistia esse direito, o que tinha a censurar-se. Meu coração, porém, estava com ele. Apesar de tudo o que fez, de todo o bem
que suas
mãos espalharam,
será sempre perseguido pela lembrança daqueles momentos em que se sentiu um homem e não um padre. Talvez seja a maneira de o Todo-Poderoso preservar os
melhores
de seus servos do funesto pecado do orgulho. Não sei.
Mas sei que Deus julgará o padre Borelli menos severamente do que ele próprio se julga.
Capítulo segundo
Mario Borelli tinha duas idéias em mente quando entrou para o reino dos garotos da rua: compreender e dirigir.
Sem compreender não poderia dirigir. Só conseguindo dirigir poderia sobreviver ao momento crucial em que, ao revelar sua qualidade de padre, oferecesse
aos scugnizzi
um teto e uma esperança.
Assim, durante as noites e os dias de seu disfarce, estudou a natureza e o caráter dos garotos da rua: suas necessidades, aspirações, temores, reações e
uma existência
normal. Mais tarde, pôs-me a par de suas descobertas durante horas de fervorosa explicação.
A maior parte do tempo que passava com ele era ao fim do dia, antes de minhas rondas noturnas na companhia de Peppino. Sentia muitas vezes o coração mortificado
ao vê-lo triste e exausto, após horas de mendicidade e venda pelas ruas, abatido e atormentado pelas contas que não conseguia liquidar, pelas faturas que
não tinha
meios de pagar. No entanto, quando falava dos scugnizzi, seus olhos iluminavam-se, a voz adquiria força e, enquanto passeava pelo aposento, alongava-se em
apaixonadas
explicações, com grande profusão de gestos.
- Para compreender essas crianças, meu amigo, tem de compreender primeiro o que significa ser napolitano. Não somos italianos; somos um povo diferente,
uma mescla
de várias raças e, comudo, uma única raça. Veja os rostos daqui! Há morenos e alongados, como os árabes; há os de verdadeiros romanos. Aquela moça parece
arrancada
de um vaso grego do tempo de Péricles. Temos o cabelo ruivo dos lombardos e os cabelos louros dos germanos. - Sorriu travessamente. - Alguns de nós têm,
agora, a
pele escura dos negros americanos. Contudo, somos todos napolitanos. Possuímos o orgulho dos espanhóis, a sutileza dos etruscos, a avidez dos Bourbons.
Como os árabes,
temos necessidade de Deus. Dizemos muitas vezes os nossos "Aves" como eles dizem "Inshallah!", e depois nos sentamos nos calcanhares e esperamos pelo milagre.
Ouça
nossas canções! Elas lhe revelarão o que somos: arrogantes e humildes; ávidos e generosos; simples e desonestos; indiferentes e apaixonados. Somos inconstantes
como
o mar, e como o mar perduramos e continuamos iguais. Mas. . . - Parou de andar e voltou-se para mim com um gesto dramático. - Mas há uma coisa em nós que
não mudou.
Precisamos de amor como o peixe precisa de água e a ave de ar. Não somos como os povos frios do norte que podem dispensar o amor porque se amam demasiado
a si próprios.
Precisamos da segurança da família, do calor de uma esposa, da paixão de uma amante. Sem isso, sentimo-nos deslocados e enfezados, como árvores tropicais
transplantadas
para campos de neve. Nas crianças, essa necessidade é dupla. Nasceram de um ato de amor. Criaram-se ao peito do amor. Para se desenvolverem, precisam ahmentar-se
de amor, como a planta se alimenta das chuvas da primavera.
Puxou uma cadeira para si e escanchou-se nela, apoiando os braços e o queixo no espaldar.
- Agora, meu amigo, deixe-me dizer-lhe a primeira coisa que aprendi a respeito dos scugnizzi. Todos abandonaram o lar porque lá não havia amor para eles.
Parece-lhe
estranho?
com efeito, parecia-me estranho. Era uma explicação demasiado simples, demasiado cômoda do complicado produto que é o scugnizzo. Disse-o a Borelh, que meneou
vigorosamente
a cabeça.
- É verdade, acredite. As circunstâncias variam, mas o fato essencial perdura. Atente por um momento no que acontece. Em determinada família há muitas crianças
e
pouco pão. O pai está ausente todo o dia, e a mãe tem tanto que fazer que seu amor seca ao mesmo tempo que o leite. Noutra casa, reinam o ciúme e o desacordo.
A mãe tem um amante ou o pai, uma concubina. Há discussões e cenas desagradáveis, intoleráveis para a criança, que assim se vê privada de amor. Noutra parte,
a miséria
é tão grande que a criança tem de trabalhar para conseguir umas centenas de liras. Para o patrão, representa mão-de-obra barata. Para a família, é o ganha-pão.
Ninguém
tem um pensamento para seu faminto coraçãozinho que seca e murcha como uma noz. Olhe mais além e verá a vida de uma família envenenada por causa do incesto
e da
promiscuidade. Uma moça está grávida do pai ou do irmão. O amor não pode viver em tal ambiente. Por isso, chega um dia em que as crianças
abandonam o lar onde não existe amor e se juntam aos outros deserdados do amor nas ruas da cidade.
- E encontram aí o amor?
- Sim, muitas vezes. Os scugnizzi mostram-se bons uns para os outros, pelo menos entre os membros do mesmo bando. Os mais velhos protegem os mais novos.
Quando um
está doente os outros lhe conseguem comida suplementar. Roubam medicamentos para ele e cedem-lhe as próprias roupas. São leais uns para com os Doutros,
e só depois
de muito maltratados se decidem a trair. Às vezes, há mesmo um elemento de amor quando uma prostituta instala um scugnizzo em sua casa e o reconforta com
o próprio
corpo.
Calou-se um momento e, quando voltou a falar, sua voz era cheia de tristeza.
- Mas, como deve compreender, tudo isso não basta. O coração humano é um poço sem fundo, e esses atos de amor são gotas d'água logo absorvidas por uma terra
sedenta.
Ergueu-se bruscamente e repeliu a cadeira, ao mesmo tempo que me apontava um dedo como escalpelo.
- Atenção! Agora, vou mostrar-lhe como se faz um scugnizzo. Os alicerces de sua vida normal foram destruídos, terá de erguer outros. Torna-se vaidoso e
arrogante,
porque não há amor que lhe permita afirmar seu valor real como filho de família, como filho de Deus. Torna-se astuto, porque não há amor que o proteja da
malícia
dos outros. Só ele existe, o animal entregue a si próprio. Engana a mente, porque a sinceridade o tornaria vítima daqueles que não têm amor no coração.
Torna-se
nervoso, irritadiço, instável, porque seu corpo de criança não pode acompanhar o desenvolvimento daquela explosão psicológica. Torna-se fisicamente raquítico,
como
pôde ver, ao mesmo tempo que seu espírito desabrocha de maneira nociva como uma erva daninha num monte de estrume. Por vezes, torna-se um tonto, um louco.
Outras
vezes. . . - O rosto de Borelli endureceu. - Outras vezes, o fardo da existência torna-se demasiado pesado para ele, e o scugnizzo suicida-se.
Levou as mãos ao rosto e apoiou as palmas nos olhos como se tentasse expulsar uma aterradora visão. Depois, tendo-se acalmado um pouco, prosseguiu:
- Quando fui para as ruas, era um homem. Mais do que isso, um padre, com anos de estudo e disciplina atrás de mim. Mas digo-lhe com franqueza que eu próprio
me
senti afetado por aquela vida estéril e sem amor. Quando, defronte de um hotel para turistas, implorava o favor de levar uma mala, odiava o sorriso desses homens
bem alimentados e dessas mulheres cujos vestidos dariam de comer aos scugnizzi durante mais de um ano. Quando via os policiais
com seus
cassetetes e suas pequenas pistolas pretas, tinha vontade de cuspir-lhes e martelarlhes a cara com os punhos. Não viam nossa miséria? Não éramos seres humanos
como
eles? com que direito nos expulsavam como se fôssemos animais e eles uma criação especial do Todo-Poderoso? Sabia que meu ódio era um erro grave. Sabia
que tinha
de me dominar sob pena de pecado mortal. Mas, e as crianças? Como poderiam compreender? Privadas de amor e de fé, o que lhes restava senão o luxo do ódio?
Subitamente, sua ira extinguiu-se como uma vela e vi à minha frente um jovem cansado, de rosto pálido e olhos tristes, atrás de uma mesa repleta de documentos
e
contas a pagar. Leu meus pensamentos e sorriu obliquamente.
- Vamo-nos agüentando, como dizem os americanos. Mas há tanto que fazer e tão pouco auxílio!
Então despedi-me, porque tinha um encontro no Hotel Vesuvio com um amigo americano que me queria vender um automóvel. Enquanto subia as escadas, dois garotos
puxaram-me
pela aba do casaco.
- Um dólar, Joe! Tem cigarros?
O porteiro tentou em vão expulsá-los. Considerou-me por certo um imbecil quando me viu dar-lhes um maço inteiro de cigarros e uma nota de mil liras. Talvez
o fosse.
Se um turista quer um pouco de paz em Nápoles, tem de insensibilizar o coração e fechar a bolsa. Mas, ao recordar o que ouvira de don Borelli, concluí que
não podia
agir de outro modo.
Quanto mais tempo Borelli passava com os scugnizzi, mais compreendia que o asilo que tencionava fundar para eles teria de ser de natureza muito especial.
Tratava-se de uma espécie particular de crianças - metade homens, metade garotos. Fechá-las numa instituição seria uma crueldade intolerável: morreriam
de medo ou
estourariam num frenesi de revolta. Impor-lhes uma disciplina de sala de aula e um horário de refeições seria infligir novo tormento à sua perturbada alma.
Dar-lhes
lições de religião, moral e deveres de cidadania seria como falar-lhes numa língua estrangeira.
Então, por onde começar e como?
Certa noite em que os observava, acocorados junto da pequena fogueira, os corpos magros tremendo de frio, os rostos tensos, atentos a um barulho de cartas
ou ao
cálculo dos ganhos do dia, compreendeu que a primeira coisa a dar-lhes era, além de um teto, comida. Tinha de encher-lhes de pasta o ventre mirrado, oferecer-lhes
abrigo e um cobertor que os protegesse do frio.
Teria de descobrir um local para onde se dirigissem de boa vontade, porque seria preferível a tudo o que pudessem encontrar nas ruas. Teria de garantir-lhes
segurança,
liberdade e alimento sem nada exigir em troca. Na rua, haviam encontrado amizade e um pouco de arnor. Não deveria destruir esses sentimentos, mas preservá-los,
adicionando-lhes
o próprio amor e a infinita generosidade de seu amigo Spada, que percorria as ruas de manhã à noite em busca de um local disponível. Na Nápoles bombardeada,
era
como correr em perseguição de um fogo-fátuo. Mais tarde, teria de conseguir-lhes medicamentos: vitaminas contra o escorbuto, penicilina para as doenças venéreas
que alguns tinham contraído nos seus contatos com prostitutas.
Mais tarde ainda - muito mais tarde - deveria tentar educálos e arranjar-lhes trabalho naquele Mezzogiorno superpovoado e cheio de desempregados. Essa educação
seria
um dos problemas mais difíceis de resolver.
Como dizer a uma criança que os vícios que a tinham alimentado e mantido viva eram repentinamente funestos? Como fazer renascer sua arrumada inocência para
a qual
o roubo, a mentira, a prostituição e a perversão se tinham tornado lugarescomuns?
Olhou-os de novo, debruçados para o fogo moribundo, e seu coração encheu-se de piedade por eles e de ira contra a cruel injustiça que os condenava àquela
existência
de animais errantes. Eram todos crianças, mesmo os de dezesseis e dezessete anos. A rua mirrara-lhes o corpo, impedindo-os de crescer, deixando-os como
os antigos
anões espanhóis. Os mais novos pareciam crianças de peito. Até os nomes eram diminutivos: Carlucciello, Tonino, Peppino.
Enquanto os observava, um dos menores começou a tremer violentamente. Seus dentes batiam e tentava aproximar-se do prato de estanho cheio de brasas. Borelli
avançou
e debruçou-se sobre ele:
"Cos' e, Nino f O que se passa?"
O pequeno rosto simiesco voltou-se. Os olhos negros
estavam inundados de lágrimas, mas Nino era demasiado homem
para chorar.
"Tenho frio, Mario; tenho muito frio." Borelli tomou-o nos braços e foi sentar-se contra a parede, embalando o mirrado corpo. De repente, a criança foi sacudida
por um ataque de tosse. Seu magro peito encolheu-se, os músculos do ventre contraíram-se e ele vomitou no passeio. O padre limpou-lhe a boca com a mão -
um lenço
é luxo inconcebível no mundo dos garotos da rua - e depois olhou para o que a criança vomitara: mucosidades escuras coaguladas, tingidas de sangue. Nino
estava tuberculoso
em grau avançado. Uma raiva cega apoderou-se do padre e amaldiçoou aquela funesta cidade que crucificava seus filhos ou os expulsava das calçadas para que
fossem
vomitar os pulmões nas sarjetas. Depois, a raiva desvaneceu-se e pôs-se a rezar: pediu a Deus coragem, força e sossego. E, à medida que rezava, apertava
contra o
peito a criança doente, tentando aquecê-la com o próprio corpo, ao mesmo tempo que o vento gelado sibilava através das ruelas e esqueléticos gatos castanhos
vagueavam
por entre os montes de lixo.
Simultaneamente, os outros o observavam, de olhos atentos e reveladores de silenciosa admiração. Estavam comentes por terem Mario no grupo. Dera-lhes coragem
e
incutira-lhes confiança. Era diferente deles, se bem que não tivessem palavras para dizer em que consistia essa diferença.
Como o poderiam fazer? Mario Borelli levara o amor às crianças da rua; mas o vocábulo ainda era para eles estranho e irrisório.
No dia seguinte, Borelli despediu-se dos rapazes com o pretexto de ir mendigar remédios para Nino. Tinha de contatar com duas pessoas. Primeiramente, com
Spada,
para lhe dizer que não podia esperar mais e que era forçoso descobrir uma casa para os garotos, nem que tivessem de acampar no pátio do palácio do cardeal;
depois,
com o fotógrafo-jornalista, cujo auxílio lhe era indispensável para preparar o momento crítico em que revelaria sua identidade de sacerdote.
Spada tinha boas notícias. Encontrara um local, apenas um local, para ser sincero, mas que tinha um teto, paredes sólidas e muito espaço. Tinha sido danificado
pelas
bombas e precisava de limpeza. . . Não importava. Excitado, Borelli foi vê-lo com o amigo. O local situava-se numa pequena praça, no
centro de um dédalo de ruas, por trás da Via Santa Teresa. Era uma igreja abandonada, outrora consagrada à Mãe de Deus. Seu nome latino era Materdei. Como
a maior parte
das igrejas napolitanas, era de estilo barroco com uma cúpula alta, abside circular e uma arcada em torno do zimbório. Estava repleta de sujeira e entulho;
porém,
como dissera Spada, tinha um teto e paredes sólidas. O cardeal Ascalesi consentira em transformá-la num abrigo para os garotos da rua.
Ebbene! Era o começo. O local era frio e vazio como um túmulo, mas, ao sair das ruas e ruelas úmidas, se diria um paraíso^
Os olhos de Borelli brilharam. Agora, Spada devia pôr-se a caminho, mendigar, pedir emprestado ou roubar serapilheira e palha para confeccionar colchões.
Se pudesse
arranjar alguns cobertores, tanto melhor. Depois uma panela, uma caçarola e todos os alimentos que conseguisse obter. Seriam necessárias montanhas de pasta
e tudo
mais que lograsse extorquir aos comerciantes. E medicamentos também, se possível.
Que gênero de medicamentos? Todos, sem distinção! As necessidades dos garotos eram tantas que quase tudo na farmácia poderia ser útil. Venderiam o supérfluo
e comprariam
outras coisas.
Spada sorriu perante o entusiasmo do amigo. Depois expôs uma idéia soberba. Ainda hoje faz a mesma coisa. Borelli é um entusiasta, arrojado e batalhador.
Consome
suas forças na luta contínua para manter vivos sua obra e seus garotos. Spada é o conselheiro calmo e generoso que olha pelo amigo e pelos garotos, dirigindo
a casa
e cuidando da despensa. A pergunta que fez era pasmosa de simplicidade.
"Você traz os rapazes para cá, muito bem. Damos-lhes cama, mesa e remédios, o que é ainda melhor. Mas como continuar a alimentá-los? Como garantir-lhes um
lar? Não
temos nada, nada, literalmente nada, a não ser um teto e quatro paredes."
Mario Borelli fechou o punho direito e esfregou-o contra o queixo mal barbeado de Spada, num gesto afetuoso. Sua grande boca abriu-se num sorriso. Não fora
em vão
que tinha sido um scugnizzo! Havia outras maneiras de matar um gato, sem que fosse forçoso recorrer às pedras! Havia em Nápoles uma dúzia de feiras, onde
se podiam
vender roupas e ferro-velho. Organizaria uma coleta de objetos inúteis, mas vendáveis. Iria ter com os americanos e lhes explicaria que era melhor retirar
os garotos
da rua do que deixá-los importunar as tropas aliadas e causar aborrecimentos aos soldados. Teria seu amigo jornalista para publicar algumas fotografias,
e as usaria
como alavanca para arranjar dinheiro aos napolitanos avaros. Nada de preocupações. Aprendera muitas coisas a respeito das pequenas combinazzioni que permitiam aos
garotos da
rua sobreviver.
Ele as utilizaria, transformando-as em transações honestas. Spada não precisava se preocupar com o futuro. Isso era com Deus. A eles
competia começar.
Spada sorriu, afetuoso. Embora não estivesse plenamente convencido, nada disse. Allora! Trabalharia a seu lado. Quando esperava Mario trazer os rapazes?
Borelli tornou-se sombrio. Sua inquietação era outra. Receava o terrível momento em que teria de se identificar. Se não tivesse cuidado, se houvesse confiado
demais
em sua influência sobre os scugnizzi em menos de um minuto veria sua obra arruinada. Era necessária muita prudência. Tinha algumas idéias a esse respeito,
mas não
estava muito certo delas. Sentia-se inquieto.
Chegava a vez de Spada encorajá-lo e dar-lhe esperança. Aquela obra, declarou, não era obra deles, mas de Deus. Lançou um olhar zombeteiro a Mario Borelli
e citou
as Escrituras: "A não ser que Deus construa a casa, são inúteis os esforços dos que nela trabalham". Teriam de mostrar-se prudentes, dar provas de tato
e bom senso,
recorrer ao sentimento dramático do napolitano, sicuro! Mas, depois, era com o Todo-Poderoso, non è vero?
Não havia dúvida! Borelli acariciou melancolicamente o queixo e admitiu o fato. Falaram ainda durante algum tempo; em seguida, deixando Spada com seus cálculos
impressionantes, Borelli foi a um encontro que marcara com seu amigo jornalista, na Galleria Umberto.
Tinha um problema para resolver.
A Itália é um país católico. A fé está profundamente enraizada na alma do povo, sobretudo no sul. Não obstante, a Itália é o país mais violentamente anticlencal
da Europa. Por várias razões, algumas das quais já apontadas neste livro, cavou-se uma profunda brecha entre os crentes e seus pastores. Há uma dicotomia
de consciência,
estranha e perturbadora para o católico estrangeiro que, bem ou mal, aceita como uma verdade elementar a participação do clero na ação social e nas reformas
cívicas.
O padre é reconhecido como homem, e o homem, como padre. No Mezzogiorno não é assim.
Era esse o dilema de Borelli. Quando revelasse aos scugmzzi que era padre, não lhe dariam crédito. Se lhes aparecesse de sotaina e com o chapéu preto em
forma de
travessa, não
acreditariam tratar-se do mesmo homem. Considerariam aquilo um embuste, um schiffo, e se afastariam medrosos e desiludidos.
Daí a necessidade do fotógrafo. Borelli lhe entregaria uma lista dos locais e do horário aproximado de encontro de seu pequeno bando de scugnizzi. Então,
ele iria
com sua máquina para tirar fotografias dos garotos e do próprio Borelli tomando parte em suas atividades, comendo e dormindo com eles. Reveladas as fotografias,
ele as entregaria a Borelli, que se serviria delas como provas quando tivesse de se apresentar perante o tribunal dos scugnizzi, a fim de demonstrar sua
boa-fé e
boa vontade. Mais tarde, as mesmas imagens poderiam ser utilizadas para publicidade da obra empreendida e para despertar os napolitanos de seu egoísmo é
indiferença.
O projeto foi executado. Levou quase uma semana, porque os scugnizzi estavam sempre em movimento - fugindo da polícia ou procurando uma nova e mais rendosa
zona
de operações. Finalmente, porém, as fotografias ficaram prontas. Uma vez mais, Borelli separou-se do grupo, a fim de se preparar para o grande momento da
tão ansiada
revelação.
Conferenciou com Spada e acompanhou-o à velha igreja para se certificar de que tudo estava em ordem. O que viu lhe agradou, e o simpático rosto de Spada
iluminou-se
com um sorriso de comovido orgulho por seu trabalho.
Nas lajes frias da antiga abside, almhavam-se velhos sacos atulhados de palha fresca. Por cima de cada saco havia um cobertor cinzento, estreito e usado.
Viam-se
também uma mesa rústica e uma cadeira, assim como uma pequena pilha de lenha. O melhor de tudo era um grande saco de macaroni e uma lata de concentrado
de tomate.
Havia panelas e uma pilha de pratos enferrujados de estanho, garfos e colheres que já tinham conhecido melhores dias.
Os dois padres olharam-se e trocaram um pálido sorriso. Não era muito, mas era um começo. O estábulo estava pronto para os filhos de Deus dos bassi.
Borelli tremia. Escondeu o rosto nas mãos e chorou. Spada rodeou-lhe afetuosamente os ombros e levou-o através da abside até o altar, agora desnudo e despojado
de
seu antigo esplendor. Juntos, ajoelharam-se nos degraus do santuário e rezaram; e o amor que deles emanava aquecia as frias lajes da igreja da Mãe de Deus.
Era noite alta quando Mario Borelli foi ter com os scugnizzi. Escolhera aquele momento porque era o pior de todos na vida dos garotos da rua. As trevas
tinham
descido. O comércio do dia, com suas emoções, triunfos e perigos, havia terminado. Os últimos clientes saíam lentos dos casmi; a multidão de espectadores
dos teatros
há muito desaparecera; os turistas dormiam em suas camas e as derradeiras lanchas levavam para bordo a última carga de marinheiros embriagados. Os rapazes
estavam
de novo sozinhos, acocorados junto aos últimos carvões; quando o fogo se extinguisse, o frio e a escuridão lhes penetrariam os ossos, até a alma. Sabia
como se sentiam:
tristes, isolados, perdidos. Ele próprio experimentara esses sentimentos.
Desembaraçou-se de seus andrajos de scugnizzo e vestiu a batina de padre. No bolso interior, guardava as fotografias provas de sua boa-fé. Atravessou lentamente
as escuras ruelas dos bassi, rezando de quando em vez, receando sempre. A obra de toda a sua vida dependia do resultado dos dez minutos seguintes.
Virou uma esquina, depois outra. Passou por uma antiga fonte encimada pelas armas de um príncipe esquecido. Ladeou a parede maciça de uma igreja e penetrou
num arco
escuro e malcheiroso. Por último, entrou numa ruela que terminava num muro. Era um beco. Precisamente ao fundo, preparando-se para dormir, estavam os garotos
de
seu bando.
Ergueram os olhos ao pressentirem seus passos e, quando viram que era um padre, recuaram indecisos e pasmos como pequenos animais assustados. Mario tirou
o chapéu
e quedou-se a contemplá-los. Depois sorriu carinhosamente e perguntou em dialeto:
"Não se lembram de mim? Do Mario?" Observaram-no com silenciosa hostilidade. Retirou do bolso uma lanterna e iluminou o rosto mal barbeado.
"Vejam! Sou eu! Não me reconhecem? Você, Carlucciello? Você, Tonino? Você, Mozzo?"
Ao som de seus nomes, sobressaltaram-se e entreolharamse incrédulos. Carlucciello levantou-se e dirigiu-se a ele, encarando-o com insolência. Nino, o doente,
tossiu,
escarrou e gemeu lamentosamente. Em seguida, Carlucciello disse:
"Parece-se com Mario, não há dúvida. Mas não é ele. O que quer aqui? Por que não volta para seu convento?"
Os rapazes riram gostosamente. Carlucciello era um autêntico guappo. Sabia como tratar os padres. Borelli sorriu e tirou do bolso interno as fotografias
que estendeu
a Carlucciello.
"Primeiro, quero provar-lhe que sou realmente Mario. Vamos! Olhe para isso. Tome a lanterna, se desejar."
Carlucciello pegou a lanterna, acocorou-se e fez incidir a luz sobre as fotografias, enquanto os outros, à sua volta, falavam constrangidos e olhavam alternadamente
para as imagens lustrosas e para o rosto pálido do padre, de pé, debruçado sobre eles. Borelli arriscou:
"Lembram-se agora? Essa foi tirada na noite em que encontramos os marinheiros na Piazza Filomena. Aquela foi quando estávamos comendo o chocolate que Mozzo
furtou
do carro americano. A outra é de Nino doente, no meu colo, onde dormiu toda a noite. Não me reconheces, Nino? Arranjei-lhe remédios, não foi? E aquelas
grandes pílulas
que o fizeram sentir-se melhor".
A pobre criança fitou-o.
"Claro que é Mario! Como podia saber todas essas coisas, se não fosse ele?"
Carlucciello voltou a levantar-se. Devolveu as fotografias e a lanterna sem pronunciar palavra. Deixou passar um longo momento e disse, numa voz calma e
severa,
ao mesmo tempo que o grupo abria alas:
"Muito bem, Mario, qual é o jogo? Ontem, era um de nós, hoje é um corvo negro. Que história é esta?"
"A história virá mais tarde, Carlucciello. É certo que sou padre. Os motivos do disfarce ficarão para depois. Agora, apenas quero dizer-lhes que descobri
um abrigo
para nós; não é muito, mas há camas, cobertores, uma lareira e comida. Foi o melhor que pude arranjar. Nino está doente. Se continuar na rua, morrerá. Gostaria
que
me acompanhassem para dar uma olhada. Se não lhes agradar, poderão voltar para a rua. Aquilo é seu, não meu."
O rosto moreno de Carlucciello exprimia irritação e desprezo. Acreditara naquele indivíduo como num irmão e aparecia-lhe agora como um nojento padre. Encheu
a boca
de saliva e deliberadamente cuspiu em cheio no rosto de Mario Borelli. Depois, inclinando a cabeça para trás, soltou uma gargalhada. O som ecoou lúgubre
pela ruela
deserta.
Os outros garotos observavam a cena, rígidos de espanto. Tratava-se de seus chefes. Dos dois, Mario estava mais próximo deles, mas não sob aquele disfarce,
com
aquele odiado símbolo de autoridade. Perguntavam a si próprios como iria ele reagir. Borelli limpou cuidadosamente o cuspe do rosto, guardou a lanterna
no bolso
e, sempre com as fotografias na mão,
acocorou-se junto ao muro, sem se preocupar com a lama e a porcaria que lhe manchavam a batina.
Quando falou, sua voz era calma e firme.
"Se me tivesse feito isso ontem, Ciello, eu lhe teria partido a cara, bem o sabe. Ainda posso fazê-lo como sabe também. Mas deixei que se mostrasse engraçado.
Agora,
sentem-se todos e ouçam-me. Se o que direi não lhes agradar, irão embora: pouco importa. Mas têm de me ouvir. Está bem assim?"
Os garotos aquiesceram, trocando entre si algumas palavras em voz baixa. Não havía dúvida de que aquele era Mario. Era aquela sua maneira de falar: calma
e claramente;
e o que dizia fazia. Após um instante de hesitação, acocoraram-se a sua volta. Borelli pegou em Nino e embalou-o contra o peito, como outrora. Carlucciello
acocorou-se
também, um pouco afastado. Consentia em ouvir, mas era demasiado esperto para se deixar convencer por mentiras como aquelas.
Mario Borelli manteve-se silencioso por instantes, refletindo no que ia dizer. Tinha de empregar as palavras exatas ou os garotos fugiriam e nunca mais
conseguiria
aproximar-se deles. Foi com simplicidade que começou:
"Sei o que estão pensando: que quero meter-lhes num orfanato onde fecham as portas, mandam as crianças à escola, lhes pregam sermões e as levam a passear
no domingo,
em filas de dois." Sorriu afetuosamente. "Não poderia fazê-lo, mesmo que quisesse. O local que consegui não é grande coisa, mas abriga da chuva. Há colchões
onde
podem dormir, cobertores, lenha e comida suficiente para uma boa refeição. Podem passar lá a noite e sair amanhã de manhã. Se gostarem, podem voltar a qualquer
hora;
terão sempre o que comer e onde dormir. É melhor do que a rua, não é verdade?"
Os garotos assentiram com a cabeça, depois olharam para Carlucciello; mas este olhava para o chão, traçando com o dedo uma imagem obscena na lama.
"vou agora para lá", prosseguiu Mario. "Não obrigo ninguém a acompanhar-me; seguem-me ou ficam, isso é com vocês. Simplesmente levo Nino comigo. É uma longa
caminhada
para um doente. vou tentar arranjar-lhe um médico e remédios. É tudo. A partir de agora, o resto é com vocês."
Levantou-se de súbito, escarranchou Nino nos ombros e desceu a ruela. Ouviu murmúrios e ruídos de passos, mas não olhou para trás. Continuou a avançar penosamente,
de cabeça baixa, segurando com os braços por trás das costas a débil criança que se agarrava a seus ombros como um macaco.
Chegado a Via San Gennaro, atreveu-se a olhar para trás
Os garotos seguiam-lhe as pisadas, a uma dúzia de metros' Mais longe, muito mais longe, mas seguindo-o também, via-se o perfil alto e magro de Carlucciello.
Sentiu bater o coração. Sua boca abriu-se num sorriso tão grande como uma melancia e pôs-se a assobiar a alegre melodia U patinho e a papoula.
O tocador de flauta de Nápoles levava os filhos para casa.
Capítulo terceiro
A primeira coisa que impressiona o visitante, na Casa dos Meninos, é a sua pobreza - permanente acusação contra o egoísmo e a indiferença social dos italianos
ricos.
Dois homens apenas cuidam de cento e dez crianças abandonadas e pagam a dez auxiliares, com um dólar por dia e por pessoa. Tente fazer o mesmo e veja se
é possível:
um dólar por dia para comer, vestir, ter casa, água, gás, eletricidade e cuidados médicos - para não falar da educação, dos livros de estudo e de todas
as contingências
a que está sujeita uma instituição de caridade.
O local parece pobre. É um velho edifício cinzento numa ruela que dá para filas de casas de aluguel com roupas a secar nos arames das varandas e galinhas
debicando
nos montes de lixo. Há dormitórios com pequenas camas de ferro, cada uma com dois cobertores, um par de lençóis encardidos e uma minúscula toalha de rosto.
Há também um pequeno dispensário onde os mais velhos administram os primeiros socorros; duas salas de aula; uma sala de jantar; uma pequena cozinha com
um grande
fogão; porém não há geladeira. Há ainda um banheiro com chuveiro e uma fila de lavatórios, mas não há água quente. Nenhum ricaço de Nápoles julgou necessário
fornecer
um sistema de aquecimento. Num aposento comprido e estreito, foi instalado um aparelho de televisão que é a alegria dos mais novos, todas as tardes às cinco
horas
e meia. Há um minúsculo pátio nos fundos da igreja, adquirido com a dádiva papal de cinco milhões de liras. Parece muito, quando se fala em liras, mas não
chega
a três mil libras inglesas.
A alimentação dos garotos é simples, mas abundante: pasta com o inevitável molho de tomate; carne uma vez por semana; sopa, pão e geléia; fruta de quando
em quando.
Se o leitor se der ao trabalho de voltar ao segundo capítulo deste livro e
analisar o quadro do custo de vida, compreenderá a razão de tão pouca variedade. Pode também perguntar a si mesmo como é possível administrar com um dólar
por dia
e por pessoa. O vestuário dos rapazes é pobre e remendado, mas quente e prestimoso. Não têm uniformes, porque não os podem comprar. Mas quando os mais velhos
começam
a trabalhar, eles próprios compram um terno, e quando os mais novos vão para a escola, cada um tem uma bata limpa, de modo que não se distinguem dos outros
alunos.
Quando o padre Spada nos leva a visitar as instalações, sentimos sua modéstia e comovido orgulho na maneira como expõe tudo quanto fez com tão pouco. A
organização
papal Obras Pontifícias concede anualmente um pequeno auxílio. Mas não há nenhuma ajuda do governo nem da municipalidade. A maioria dos fundos provém da
venda de
ferro-velho e roupas usadas, assim como da caridade particular, esporádica e incerta como todas as boas obras em Nápoles.
O local é arejado, e os garotos andam asseados, apesar da carência de meios. O edifício tem séculos de existência. O estuque racha e cai aos pedaços; das
paredes
solta-se uma fina poeira acinzentada que se deposita em tudo. Os rapazes brincam num pátio de terra batida cercado pelas altas paredes de casas arruinadas.
No entanto, sentem-se felizes. Podem sair quando lhes apetece. Continuam ali porque assim o desejam, porque encontraram calor e compreensão mais fortes do
que o
apelo das ruas. Sentem-se orgulhosos de si próprios e de sua casa, e esse orgulho é na verdade impressionante, dada a pobreza em que floresce.
É pouco, dirá alguém, terrivelmente pouco depois de cinco anos de canseiras e sacrifícios. Sem dúvida. Mas se se pensa no mísero princípio da obra e na
indiferença
monstruosa da classe média de Nápoles, é muito, na verdade.
O primeiro grupo de inquietos garotos da rua que chegou a Materdei para comer e dormir numa cama foi embora na manhã seguinte. Mario Borelli não tentou
detê-los.
Deu-lhes o desjejum com os restos da ceia, encheu-lhes os bolsos de cigarros e disse-lhes que a casa estaria aberta dia e noite para todos aqueles que quisessem
voltar. Acrescentou que, se algum fosse apanhado pela polícia, os outros deveriam informar para que ele o pusesse em liberdade sob fiança. Os garotos sorriram
embaraçados,
Nunca tinham pensado naquilo, mas era uma ideia a aproveitar. Acenaram com a mão num gesto de adeus e foram para as suas atividades diárias nos bassi.
Na noite seguinte, voltaram todos, acompanhados de outros recrutas esfarrapados. A panela estava no fogo, os cobertores quentes eram convidativos. Os recém-chegados
teriam de dormir aos pares nas enxergas de palha. Enquanto comiam, Borelli, encostado à parede, tocava para eles em seu velho acordeão. Não havia orações
nem sermões;
apenas uma reconfortante atmosfera de amor e camaradagem. Borelli é impaciente por natureza, mas a vida de vagabundo ensinou-lhe que o fermento da bondade
leveda
muito, muito lentamente.
Desse modo, iam e vinham, e quando compreenderam que não havia coerção, nem intuitos secretos, demoraram-se um pouco mais. Borelli e Spada aproveitaram
para aumentar
o conforto existente: uma ou duas cadeiras, uma cama para doentes, um velho fogão, casacos postos de lado e sapatos furados oferecidos pelos pobres. Tiveram
encontros
discretos na questura, onde os garotos eram considerados um aborrecimento, como as moscas em março. Em vez de os mandarem para casas de correção, por que
não levá-los
para a Materdei e dar a Borelli uma oportunidade de reconduzi-los ao bom caminho?
A polícia mostrava-se cética. Os rapazes eram pequenos criminosos. Um padre não estava preparado para dominá-los. Borelli mostrou as fotografias e falou
com ardor
e convicção. Também podia ser duro quando julgava necessário e não hesitou em utilizar o que sabia a respeito dos pecadinhos da polícia para provar seu
ponto de
vista. Os da questura concordaram que ele não deixava de ter certa razão. . .
Uma noite, após o jantar e a música, Borelli acocorou-se no chão, no centro do círculo de enxergas, e fez uma proposta, exprimindo-se no vivo calão das
ruas.
Tinha cumprido sua promessa. Dera-lhes comida e abrigo sem nada perguntar nem exigir em troca, não era verdade?
Os garotos acenaram afirmativamente.
Tinham confiança nele?
Sicuro!
Sabia que não os ludibriava e lhes falava francamente?
Sicuro!
Também não ignoravam que ele conhecia um ou dois processos de ganhar uma côdea?
Os garotos sorriram. Sabiam-no muito bem. Aquele era um autêntico guappo. Tinham-no visto em ação.
Muito bem! Sua idéia era a seguinte. Em vez de explorarem as ruas como o faziam, em vez de fugirem da polícia e dos carabinieri, em vez de remexerem no
lixo das
vielas e serem
perseguidos pelos lojistas e porteiros de hotel, por que não haveriam de trabalhar juntos? Por que não organizar seu próprio negócio ali, em sua casa? Poderiam
dedicar-se
a ele durante o dia e dispor das noites como entendessem.
"Que gênero de negócio?", perguntou Carlucciello.
Entretanto Borelli sabia que a mesma pergunta estava no espírito de todos. Explicou simplesmente:
"Em que se ocupam atualmente, você, Carlucciello, e você, Pepi? Roubam straccii, baterias e peças sobressalentes de automóveis, ferramentas de carpinteiro;
depois
vão vendê-las na feira de Pugliano ou Porticino. Não é assim?
"born. Proponho que cominuem fazendo o mesmo, mas legalmente. Ganharão tanto como agora, talvez mais, pois não haverá confusões com a polícia, e os receptadores
não poderão obrigar a baixar os preços porque já não terão medo deles. Estão compreendendo?"
Carlucciello acenou afirmativamente. Mas não via onde conseguiria a mercadoria necessária.
Borelli explicou. Mendigaria uma parte e compraria o restante. Sabia como negociar. Obteria tudo por bom preço. Eles limpariam os artigos e os revenderiam
com
bom lucro. O que lhes parecia?
Os rapazes concordaram ansiosamente. Até Carlucciello estava impressionado.
Borelli era um homem prudente, e essa prudência aliava-se à astúcia própria dos homens do sul. Sabia que estava apelando para um dos mais ardentes desejos
do scugmzzo,
e mesmo de toda a população masculina de Nápoles - o desejo da respeitabilidade e de um lugar seguro na sociedade. Esse desejo contrariado provoca a vaidade,
a arrogante
auto-suficiência que são as características mais irritantes dos naturais do sul. Apelava também para sua furberia, o instinto para o negócio e as transações
astuciosas.
Ficou à espera. Os rapazes esperavam também um sinal de Carlucciello. O jovem moreno amadurecia outra pergunta.
"Parece-me bom. Mas se não der certo desistiremos, não é? Podemos largar tudo quando quisermos?"
"Quando quiserem."
"D'accordo!", disse Carlucciello, alegremente. "Assunto encerrado. Quando começamos?"
"Amanhã", disse Mario Borelli, sorridente. Pegou no acordeão, passou a correia pelos ombros e atacou uma familiar melodia napolitana: Scapriciatiello. Os
rapazes
acompanharam-no com a voz rouca, e o som repercutiu contra a caliça estalada
da abóbada.
Foi naquela noite que começou realmente a Casa dos Meninos, tal como hoje existe. De uma só vez, Borelli resolvera diversas operações delicadas.
Fizera da Materdei não apenas um lugar para distribuir a sopa dos pobres, mas um verdadeiro lar. Fizera dos primeiros scugnizzi, vadios e vagabundos, comerciantes
independentes. Criara uma pequena fonte de receita para sua manutenção. Dera aos mais velhos, como Carlucciello, a possibilidade de conseguir um cartão
de trabalhador
como vendedores ambulantes ou empregados de uma instituição de caridade. Já tinha alguma coisa para mostrar ao cardeal Ascalesi e às autoridades civis,
quando lhes
pedisse auxílio para consolidar e desenvolver sua obra. Agora, quando fosse pelas ruas em busca dos abandonados procurando-os debaixo dos carros ou nos
gradeamentos
das padarias, poderia garantir-lhes camaradagem e compreensão, além de cama e mesa. Tendo Spada como administrador e provedor da Casa, podia empreender
a longa e
sinuosa tarefa na
reeducação.
A meu ver, era esse o ponto crítico do meu inquérito, aquele que me permitiria avaliar a solidez ou a fragilidade da obra de Borelli e de Spada. Apesar
do drama
de seu início, apesar da calorosa caridade de que está penetrada, a única medida de seu valor estava no êxito ou no fracasso da reeducação dos scugnizzi
e de sua
integração na vida normal.
Disse-o a don Borelli. Concordou sinceramente. Confesseilhe que gostaria de conduzir livremente meu inquérito. Declarou-me que podia formular
todas
as perguntas que quisesse. Ele e Spada responderiam com franqueza. Disse-lhe que isso não bastava: o ponto de vista clerical não podia exprimir toda a verdade.
Meu livro teria de ser inteiramente justo, de outro modo não valeria a pena escrevê-lo. Durante cerca de dez anos, eu próprio fora professor em escolas
de ensino
elementar e secundário. Queria circular livremente no meio dos rapazes e interrogá-los. Queria juntar-me aos mais velhos, ir com eles para a cidade, visitar
as
cenas de suas atividades passadas, estudar suas reações, tirar minhas conclusões acerca do êxito ou do fracasso da Casa.
Borelli sorriu cordialmente e disse-me que podia agir como entendesse. Deu-me uma cama na enfermaria e independência na casa. O que you relatar foi observado
por
mim. Garanto que não o escrevi levianamente.
Comecei por reparar numa coisa estranha.
Todos os rapazes que chegavam à Casa dos Meninos - quer fossem trazidos pela polícia, por Borelli ou viessem de livre vontade - a abandonavam ao fim de
três ou quatro
dias. Aquela nova vida parecia-lhes tão estranha, o apelo era tão forte, que sua alma confusa e inquieta não podia suportar a tensão. Fogem. O porteiro
os vê partir,
alguns dos rapazes também, mas ninguém tenta impedi-los. É o regulamento da casa: a porta abre-se nos dois sentidos. A Casa existe para os garotos, não os
garotos
para a Casa. É seu lar: se não querem ficar, se o amor que lhes é oferecido não basta, ebbene, são livres para partir.
Mas regressam sempre. Três, quatro dias, uma semana no máximo, um rosto sujo encimado por cabelos revoltos espreita indeciso à entrada. Pode-se comer qualquer
coisa
ou ver televisão? com certeza! O porteiro ou monitor aponta um dedo para a Casa. Sabe aonde se dirigir. Tudo está aberto! O magro perfil do garoto transpõe
rapidamente
a porta e dirige-se para a cozinha, para o pátio ou para a sala de aula. Se o padre Spada o encontra no corredor, passa-lhe a mão pelos cabelos revoltos
e sorri
contente.
"Não se esqueça de se lavar antes de ir para a cama."
E é tudo. Ninguém faz perguntas. Basta que o garoto tenha voltado.
Há os que deixaram a Casa por duas ou três vezes. Regressaram também - em geral, escoltados por um policial. O motivo é curioso e bastante patético. O garoto,
porque
viveu na Casa, deixou de se precaver. Já não tem necessidade de astúcia e cinismo. Quando volta para as ruas, sente que perdeu o treino: é incapaz de sobreviver
como os outros.
De regresso à Casa, começa a modificar-se pouco a pouco. O medo desaparece-lhe dos olhos; perde o ar furtivo e ansioso de animal perseguido; deixa de se
exprimir
com arrogante agressividade. Sorri quando lhe falam. Vai brincar no pátio. O corpo desenvolve-se a olhos vistos, como uma haste de bambu nos trópicos. Vi-o
com
os próprios olhos e é uma experiência comovedora.
Não me levou muito tempo a compreender a causa do fenômeno. O scugnizzo retorna a seu estado natural: uma infância calma, liberta das responsabilidades
da luta pela
sobrevivência. Não tem que se preocupar com a alimentação, o dinheiro, ou um lugar para dormir. Não se sente atormentado por complexos de culpa ou pela
assustadora
presença da lei. As pessoas que o rodeiam são amigas. O amor que lhe oferecem tem a jovial indiferença do afeto familiar. Por isso seu espírito tranqüiliza-se
e
o corpo mirrado desenvolve-se. Mas nunca atingirá o desenvolvimento do corpo de nossos filhos, porque o amor e os carinhos chegaram demasiado tarde.^)
- E quanto ao passado? As crianças esquecem-no?
Fiz a pergunta ao padre Spada, numa tarde em que estávamos a um canto do pequeno pátio, observando os mais novos jogando bola. Assemelhavam-se a um bando
comum de
crianças saudáveis, divertindo-se num terreno baldio. Spada coçou o queixo e fitou-me através das grossas lentes dos óculos. Depois respondeu, pensativo:
- Tentamos fazer com que o esqueçam. Julgo que o conseguimos em parte, com os mais novos. Quando chegam, têm pesadelos horríveis. Rangem os dentes e falam
durante
o sono. Às vezes, acordam aos gritos. Pouco a pouco, seu sono vai-se acalmando. Esquecem porque querem esquecer. Mas todos sabemos que mesmo quando se esquece
é
impossível abolir uma recordação.
- Esquecem os vícios, também? Aqueles que tiveram relações com prostitutas desde os dez anos ou que foram vítimas dos pederastas trazem os vícios para a
Casa?
Sua resposta foi franca e interessante:
- De uma maneira geral, posso afirmar que não. Creio que temos aqui muito menos casos de aberração sexual do que em qualquer outro internato para rapazes
de boas
famílias. A razão é simples. As relações prematuras com prostitutas não proporcionam nenhum prazer a um garoto que ainda não está formado. Acontecem em condições
deploráveis para sua dignidade. O desejo que suscitam nele consome-lhe as poucas forças. O curioso é que a criança compreende isso. Quando escapa à tentação,
sente-se
inconscientemente satisfeita. As ocupações que têm aqui - os jogos, a escola, a vida da Casa - proporcionam-lhe muito mais satisfação do que a uma criança
habituada a
isso desde o início. Por conseguinte, não está interessada, pelo menos para já, em renovar suas relações com mulheres.
- E quanto aos contatos homossexuais?
- Houve alguns casos, mas não muitos.
- Alguma razão para isso? Em geral, a pederastia é um hábito difícil de destruir.
- Sim - explicou Spada -, quando é uma experiência normal. Mas é preciso não esquecer que o scugnizzo não é um delinqüente normal. Quando chega aqui pela
primeira
vez, está pronto a fazer seja o que for. Mente, engana, luta. Tenta encontrar alguém com quem compartilhar os vícios. É sua maneira de se revoltar, compreende?
Entretanto, quando regressa de sua primeira fuga, é porque compreendeu que aqui é mais homem, mais independente do que nas ruas. De forma que reage com
violência
contra a pederastia.
- É uma reação moral?
- Não, é uma reação natural. Compreende que entregarse a outro garoto é colocar-se sob seu poder. Já teve a experiência, não quer repeti-la, nem por mero
prazer.
Foram as ruas que lhe ensinaram essa prudência elementar. Tentamos confirmá-la com nossos ensinamentos morais.
Gostei daquele raciocínio. Era simples, pragmático, isento de unção moralizadora. Pensei que teria sido do agrado de qualquer psicanalista. Mais tarde,
vim a confirmá-lo
em longas conversas com Peppino e os rapazes mais velhos da Casa. Por ora, contentei-me em aceitá-lo tal como se apresentava. Havia, porém, muitas outras
coisas
que eu mais tarde queria saber.
- A mentira e o roubo, por exemplo? Como tem verificado, os garotos, ao chegarem aqui, são peritos nessas matérias. Continuam a praticá-las?
- A princípio, sim - disse Spada, assentindo com a cabeça. - Não se esqueça de que o scugnizzo é um ator que aprendeu a servir-se das expressões de que
julga tirar
mais vantagens. Expressão suplicante para o turista; expressão de entendido para os marinheiros; expressão de jogador para os receptadores e alcoviteiros.
Quando
chega aqui, experimenta-as todas. Leva muito tempo antes de compreender que a única expressão que lhe exigimos é a verdadeira - seu rosto de criança.
Eu próprio fizera a experiência. Quando fui a primeira vez à Casa, com os bolsos cheios de bombons para os mais novos e cigarros para os mais velhos, tive
de me
sujeitar àquela pequena comédia da bajulação e do afeto. com o convívio, acabaram por desistir e trataram-me com a franca desenvoltura de crianças normais.
- E quanto ao roubo?
- Não! - declarou Spada, peremptório. - São scugnizzi: não se roubariam uns aos outros. De resto - acrescentou, encolhendo os ombros - temos tão pouca coisa
aqui
que valha a pena ser roubada que a questão não se põe.
Deixei-o e voltei a meu pequeno quarto caiado no alto da Materdei, a fim de registrar nossa conversa e juntá-la a outros documentos relativos à reeducação
dos garotos
da rua.
Os mais novos freqüentam a escola pública elementar, não longe da Casa. Todas as manhãs vestem a bata preta usada por todos os alunos napolitanos. De rosto
lavado
e sacola a tiracolo, após uma inspeção levada a cabo por um dos mais velhos, lá vão eles, em grupo. Continua a haver apenas dois padres para dirigir a Casa:
os auxiliares
consagram-se à cozinha, à limpeza e venda dos trastes velhos que permitem aliviar as despesas, de forma que o ensino tem de ser ministrado nas escolas públicas.
Isso significa que, como muitas crianças napolitanas, os garotos da rua têm três horas de escola, três vezes por semana: das oito às onze da manhã e das
onze às
duas da tarde, alternadamente. Quando regressam à Casa, os monitores auxiliam-nos nos deveres e ensinam-nos conforme podem. É uma situação pouco satisfatória,
mas
que os deixa em pé de igualdade com as outras crianças de Nápoles que têm a sorte de freqüentar a escola. De qualquer maneira, são mais felizes do que alguns
milhares
que não recebem a mínima instrução.
- Como se comportam na escola?
Fiz a pergunta a um dos empregados de Borelli, um jovem vivo e inteligente da Calábria. Recebe quinhentas liras diárias como monitor e assistente de ensino.
Está
satisfeito por ter conseguido aquilo, na Nápoles repleta de desempregados. Além disso, como explicou muito simplesmente, sabe que está fazendo qualquer
coisa de
útil para si e para os garotos. Depois de refletir por instantes, respondeu à minha pergunta:
- Na escola, os garotos fazem exatamente o que fazem os companheiros. Não há distinção entre os outros alunos e os scugnizzi. Vestem-se da mesma maneira
e respeitam-se
entre si. Se há vantagem, é do lado dos nossos garotos. A existência nas ruas deu-lhes vivacidade. Por outro lado, quando regressam à Casa, podem estudar
e preparar
tranqüilamente as lições. Os outros,
que vivem em grupos de seis, oito e doze num quarto dos bassi. . . como poderiam entregar-se ao estudo mesmo que o quisessem? Capisce?
- Capito!
Era elementar, mas significativo. Borel^ e Spada estavam se saindo bem com os limitados meios de que dispunham.
De acordo com as normas anglo-saxônicas> os resultados não eram grandes. As salas de aula da Casa apresentavam-se sujas e desprovidas de material, um quadro-negro,
alguns livros velhos, dois ou três mapas manchados pelas moscas' e é tudo. Mas ao reparar-se nos garotos debruçados sobre seus trabalhos e sob a vigilância
dos monitores,
sente-se que há neles uma fome de saber que envergonharia nossos filhos.
A Casa dos Meninos não tem meios para formar seus próprios professores e qualificá-los para o exai do Estado. Mesmo que os tivesse, não poderia pagar-lhes
o Vencimento
mínimo exigido por lei. Por isso, os garotos têm de iirar partido das escolas públicas, onde os métodos antiquados a superlotação e os cursos alternados
fazem desanimar
mesmo os professores mais corajosos.
Quando se olha para a beira-mar de Nápoles> vê-se uma linda praça nova que o prefeito mandou constuir Para seus amados concidadãos. O prefeito é o signor
Laufo>
um homem que se preocupa com o bem público. Foi ele q^em mandou construir um muro de cimento em frente das baíracas Para não desfearem a calçada ao longo
da Via
Marittima; Também fez presente à cidade de uma magnífica fonte. Seu último gesto foi oferecer um aparelho de televisão a cada um dos grupos locais do
partido monárquico.
Pergunto a mim mesmo por que não se teria lembrado de mandar construir uma ou duas escolas para as crianças.
Quando o garoto já está há algum tempo na Casa, um problema se apresenta: os pais ou outros familiares - São poucos os garotos órfãos. Mesmo estes têm parentes
que
vivem em Nápoles. Como me explicou Borelli muitas vezes. como eu próprio tentei explicar neste livro, não é a fome nem a deserção nem a morte que arrasta
os garotos
para a rua é o duplo fardo da responsabilidade e da falta de amor.
Quando os pais ou os parentes sabem que o garoto teve a sorte de encontrar um lar, seu primeiro pensamento é tirar proveito da situação.
Aparece um pai que implora a Borelli que restitua o filho. Ama-o ternamente. Não pode suportara idéia de viver
separado dele. Precisa do pequeno para ajudá-lo na profissão. . . Uma mãe, que viu a fotografia do filho na pequena folha que Borelli publica, apresentou-se
na Casa
reclamando dinheiro. Os vizinhos disseram-lhe que os modelos dos fotógrafos tinham direito a uma compensação. Como mãe do garoto, é dever deste ajudá-la
financeiramente.
. Quando o garoto vai, vez por outra, visitar a família, esta o massacra com choros e súplicas, infligindo-lhe a desprezível comédia da miséria a que tantas
vezes
os turistas são sujeitos.
Quando propus a Spada levarmos dois dos garotos para um fim de semana em minha casa, meneou a cabeça.
- Não é aconselhável, meu amigo. Seria bom para eles, sem dúvida. Mas quando as famílias o soubessem, teria uma multidão à porta apelando para sua caridade.
Sabemos
lidar com essa gente. Você, não.
Sua maneira de lidar com os parentes era brusca e brutal. Quando incomodavam em excesso os garotos, Borelli ameaçava-os com a justiça por abandono dos filhos
e
infração às leis do trabalho e da escolaridade obrigatória. Lutou duramente por seus meninos para permitir que os explorassem de novo.
Apesar disso, a criança sente-se muitas vezes culpada para com a família, o que lhe cria problemas. Nas ruas, não se importava com isso. Tinha feito sua
escolha.
Tinha de salvaguardar sua independência se queria viver. Na Casa, perdeu esses meios de defesa e tornou-se vulnerável à venalidade da família.
Comecei a compreender que a reeducação dos garotos da rua não era um problema fácil. Comecei a nutrir grande admiração por aqueles dois homens que tentavam
resolvê-lo
com tão limitados meios.
Reina na Casa uma atmosfera de liberdade total. Não há sinetas. Os garotos não são postos em fila nem marcham de um lugar para outro como acontece em todos
os internatos.
Os mais velhos estão autorizados a fumar, não, como se explicou Spada, por ser bom para a saúde, mas porque contraíram o vício nas ruas e o têm enraizado
como qualquer
adulto. É preferível consentir-lhes esse luxo e dar-lhes a impressão de que estão em sua própria casa a obrigá-los a fumar pelos cantos numa espécie de
pequena rebelião.
Essa atitude liberal cultivada na Casa é muito importante para os garotos. Borelli e Spada preocupam-se sobretudo em darlhes um lar. O resto é secundário.
Quando
se sentem simultaneamente livres e em segurança, eles próprios trabalham em
sua reeducação. Agem de espontânea vontade, de modo a preservar seu lar e os princípios em que se assenta.
Ao ver os afetuosos cuidados que os mais velhos dispensavam aos mais novos, ao ver Peppino observar atentamente os scugnizzi que encontrávamos em nossas
digressões
noturnas, para o caso de alguns dos garotos da Casa terem voltado para o meio deles, compreendi que Borelli e Spada tinham razão. Seus métodos eram eficazes.
Seu
êxito estava à vista.
Quando os garotos mais velhos, os que freqüentaram as cinco classes elementares, completam quinze, dezesseis ou dezessete anos, um novo problema se apresenta,
ou
antes, uma série de problemas que o temperamento brusco e combativo de Borelli não saberia resolver. Para o conseguir, teria de destruir toda a estrutura
política,
econômica e moral do Mezzogiorno. Não seria má idéia, pois os garotos começam a cheirar muito mal. Quando os rapazes chegam à idade de entrar para o ginásio,
Mário
Borelli tem de enfrentar um dilema simples, mas brutal. Continuar a educá-los ou dar-lhes a oportunidade de ganhar para comer durante alguns anos?
Se os mandar para o ensino secundário - luxo que não pode permitir-se - receberão aí uma erudição clássica ultrapassada. Esse ensino lhes abrirá o espírito
para
o que há de melhor na literatura, na arte, na filosofia e na história, mas lhes negará para sempre os meios de gozar disso.
Há em Nápoles advogados que são motoristas de táxi. Há filósofos que servem caffè espresso. Em todas as estações se vêem anúncios de concursos para recrutamento
de funcionários para modestos empregos civis. Os candidatos são todos formados em arte, direito, letras e ciências económicas. Um em mil tem a sorte de
conseguir
o emprego. Por isso, para os rapazes de Borelli, essa espécie de educação é uma dispendiosa perda de tempo. É verdade que há o ensino técnico. Não está
muito divulgado
em Nápoles, mas é sempre possível entrar em um dos seis estabelecimentos que o ministram, com um pouco de sorte. Como é óbvio, as vagas são poucas e, por
isso,
muitos pais prontificam-se a pagar a preferência, de modo que são diminutas as possibilidades do scugnizzo. E claro que, se um rico napolitano se resolvesse
a fundar
uma ou duas escolas para as crianças pobres da cidade, a situação se modificaria. Mas coloquemos de lado esse improvável milagre e suponhamos que Borelli
possua
influência e fundos bastantes para proporcionar a alguns dos
seus rapazes cursos técnicos que lhes permitam, à custa de inteligência e trabalho, conseguir um diploma de técnico agrícola, por exemplo.
Existe, no sul, um sistema insidioso que se chama Ia raccomandazione. Para passar nos exames, mudar de classe e obter o diploma final, o estudante não só
precisa
de boas notas mas também de ser recomendado pelo professor. Como um diploma de técnico é um dos raros documentos que permitem conseguir um emprego na Itália,
a recomendação
do professor é de suma importância. Pode-se mesmo dizer que tem um valor capital.
É assim que muitos professores o entendem, aliás. Por isso, fazem-se pagar por suas recomendações. A um de meus amigos pediram, muito discretamente, duzentas
mil
liras em troca da recomendação para seu diploma de técnico em engenharia. Não tinha o dinheiro nem teria pago se o tivesse. Mas foram-lhe necessários mais
três
anos para conseguir o diploma - durante os quais poderia ter ganho um bom salário de técnico.
Que possibilidades tem um ex-scugnizzo perante um sistema desses?
Por conseguinte, Borelli adota a terceira e única solução que lhe resta. Coloca seus garotos como aprendizes nas oficinas da cidade: eletricistas, marceneiros,
soldadores,
mecânicos. Os garotos revelam gosto pelo ofício. A vida das ruas obrigou-os a tomar consciência da dignidade do trabalho e sentem-se felizes por o terem.
Costumava vê-los regressar à noite, sujos, com manchas de óleo, cansados, à pequena pensão que Borelli lhes conseguiu perto do Duomo. Tinha por hábito comer
e conversar
com eles. Gostavam de seus empregos. Gostavam do contato com as ferramentas. Economizavam e poupavam para comprar revistas técnicas e compêndios de segunda
mão.
Estavam sedentos de aprender. Mas não havia quem os ensinasse!
Talvez isso pareça estúpido, mas é verdade. Não havia quem os ensinasse porque os patrões não querem que eles aprendam.
Primeiro, fiquei surpreendido. Depois compreendi que acabava de tropeçar na explicação de uma coisa que há muito me preocupava.
No sul, o nível técnico é terrivelmente baixo. Passei horas observando operários que construíam uma vivenda. O cimento era mal preparado, as paredes, mal
aprumadas,
não havia resguardos nas armações das portas e janelas, não existia ventilação. A instalação elétrica constituía um perigo mortal, e a canalização, uma monstruosidade
mecânica. Os mecânicos do sul fazem brilhar os carros como diamantes. . . mas têm tendência para reparar os motores
com barbantes!
O motivo de tudo isso foi-me explicado por dois rapazes mais velhos de don Borellí.
Aprendizes de quinze e dezesseis anos, respectivamente, tinham como patrões um pequeno marceneiro e um garagista
com seis mecânicos, os quais lhes ensinavam o suficiente
para se desembaraçarem dos trabalhos mais rudimentares da oficina. Se quisessem aprender mais, reduziriam-nos a varrer o chão ou a filtrar o óleo do reservatório.
Por quê? Primeiro, porque se aprendessem demasiado poderiam transformar-se em rivais poderosos. Segundo, porque os patrões não tencionavam conserválos além
dos dezoito
anos.
É o velho sistema, há muito banido no meu país pelos homens de negócios sensatos, e que consiste em utilizar mão-deobra barata, atirando-a depois, meio
formada,
para a multidão dos desempregados.
Todos os adolescentes com quem falei sabiam o que os esperava. Todos se mostravam inquietos, tanto mais que não tinham família que pudessem recorrer quando
se vissem
sem emprego.
Borelli também estava inquieto - inquieto e furioso; mas não sabia o que fazer. Falara a alguns patrões que se limitaram a encolher os ombros, em sinal
de impotência.
Cosa fare? Os tempos eram maus. Consideravam um ato de caridade dar preferência aos garotos, quando havia dezenas de milhares de homens casados e sem trabalho.
Refreando a ira, Borelli retorquia que se aproveitarem assim de jovens inexperientes, sem assumir nenhuma responsabilidade por seu futuro, era um pecado
grave. Um
pecado da mesma natureza daquele que consistia em explorar o corpo de mulheres nos prostíbulos. Era contra a dignidade humana. Era. . .
Depois, interrompia-se, enojado com a amável indiferença daqueles miseráveis enfatuados. Estava furioso por depender daqueles indivíduos para conseguir
trabalho
para seus garotos. Tentara as grandes empresas, mas seus esforços foram quase sempre inúteis.
Os diretores mostravam-se compreensivos, mas a mecânica burocrática acabava por levar Borelli à porta do chefe do pessoal. A resposta era sempre a mesma.
Não havia
vagas. É
evidente que não as podia haver numa cidade com duzentos mil desempregados. Além disso, era norma da companhia dar trabalho aos homens casados. A isso, Borelli
não
podia retorquir.
Talvez pudesse queixar-se de alguns chefes de pessoal que cobravam uma pequena percentagem sobre o salário dos homens que empregavam. Mas de que adiantaria?
Em Nápoles
se procede dessa maneira!
E assim continua hoje o homem que restitui a esperança, o amor e a dignidade humana às crianças abandonadas de Nápoles. Arrancou-as das ruas. Deu-lhes um
lar, ensinou-as
a ser honestas e decentes. Educou-as o melhor que pôde. E agora? Terão de voltar para as ruas.
Por que não forma ele próprio os rapazes?, perguntará alguém. Por que não funda uma escola profissional
com professores qualificados e não faz suas próprias recomendações
a fim de fornecer à indústria italiana os técnicos de que tanto precisa?
A resposta é que não conseguiu nem conseguirá dinheiro para isso. Os fundos da Igreja são parcimoniosamente repartidos pelas muitas instituições de caridade que
tem de auxiliar. Borelli afirma, com sinceridade, creio, que recebe a parte que lhe é devida. Do Estado não recebe nada, embora se trate dos filhos do Estado.
Da
prefeitura de Nápoles nada recebe também, embora se trate dos filhos de Nápoles, dessa encantadora, romântica e sentimental cidade aonde os turistas afluem.
Da caridade
particular recebe alguma ajuda, o suficiente para manter a Casa no nível em que atualmente vive.
Sabe, como sabemos todos, que milhões de dólares americanos foram dispensados a seu país para financiar obras como a sua, para formar técnicos capazes de
desenvolver
os parcos recursos do sul. Poderão dizer que a Itália é um país pobre, de minguados meios. Concordo, mas seus recursos poderiam ser triplicados
com uma honesta
aplicação de capitais e mão-de-obra qualificada.
Este ano, os agricultores do sul foram duramente atingidos pelo mais rigoroso inverno dos últimos tempos. Foi um terrível desastre. Mas não foi criado um
único fundo
de auxílio. O Banco de Nápoles continuou a emprestar dinheiro a treze por cento e elevou esse juro para dezessete por cento, aumentando o valor nominal
das obrigações.
Ouvi histórias inquietantes a propósito de industriais e banqueiros que depositavam capitais nos cofres do Partido Comunista para obter certas garantias;
porém,
pouco ouvi falar de doações e legados para suavizar a miséria geral.
E os dólares americanos da Casa dei Mezzogiorno? Os agricultores atingidos dizem que nunca lhes puseram os olhos em cima. Também não foram utilizados para
manter
o azeite a preço acessível, em benefício das famílias sem trabalho
E nem um único dólar, certamente, chegou às mãos de don Mario Borelli!
Livro terceiro
Cosa f are? O que se há de fazer?
Capítulo primeiro
Antes de mais nada, convém responder à seguinte pergunta:
com que direito um estrangeiro, cidadão de um país sem desemprego e com elevado nível de vida, chega à Itália e se permite julgar suas condições sociais,
sua administração
política e eclesiástica?
A pergunta é legítima, e creio que a resposta não o é menos: o observador é convidado. O Estado italiano gasta mais dinheiro
com a propaganda turística do que com
qualquer organismo de caridade ou de reforma social. O visitante paga um imposto de permanência e gasta para viver muito mais do que em seu país, onde encontra
por
menos dinheiro condições de vida superiores. É evidente que isso só em parte responde à pergunta. A receita turística mantém este país na superfície. A
emigração
para a Austrália, Canadá, América e Argentina liberta-o de uma parte da população desempregada. Os dólares dos Estados Unidos sustentam empresas industriais
oscilantes
e proporcionam lucros fáceis a seus financistas e homens de negócios.
O indivíduo que paga a orquestra tem o direito de dar opinião acerca da música que lhe oferecem.
Além disso, graças a uma burocracia hermética, tanto no Estado como na Igreja, graças a uma imprensa partidária e dividida, financiada, ainda por cima,
por interesses
de classe, é difícil conhecer a verdade. É preciso, no entanto, que a conheçamos.
A Itália é, econômica e militarmente, o eixo da defesa européia. A corrupção política é um ninho de témitas que tritura as bases dessa defesa. A indiferença
social
faz nascer a revolta entre suas vítimas. A miséria e o desemprego ocasionam bons comunistas. A venalidade nos negócios e na vida pública engendra o medo
e a incerteza,
impedindo qualquer reforma. Os patifes prosperam, e as pessoas honestas são reduzidas ao silêncio.
Um homem não é uma ilha. Nem tampouco uma nação, neste nosso mundo do século XX. Os pecados de um recaem sobre a cabeça de todos. O castigo pode vir a ser
catastrófico.
É essa a primeira justificativa para meu livro.
Vejamos a segunda: as crianças de Nápoles não têm voz; empenhei-me em lhes dar uma. Uma criança não pertence a nenhum partido político; uma criança não
tem nacionalidade.
Assiste-lhe o direito de viver e o direito de esperar. Se estes lhe são negados, é um crime contra a humanidade que todo homem honesto deve denunciar.
Para além das colinas que se erguem à minha frente, enquanto escrevo estas linhas, estendem-se os pomares e as hortas de Salerno. As árvores frutíferas
estão em
flor, e as flores desabrocham por cima dos corpos sepultados na cinzenta terra vulcânica. São corpos de homens que morreram acreditando que haviam lutado
para libertar
a humanidade do medo e da miséria. A miséria e o medo que infestam as ruelas de Nápoles transformam sua morte num objeto de irrisão. Também eles foram reduzidos
ao silêncio; é também por eles que falo.
São essas as minhas credenciais. Creio que me conferem o direito de dizer o que aflige esse infeliz país e o que é preciso fazer para curá-lo.
O que fazer, então?
As necessidades não têm conta, mas podem resumir-se assim: limpar o país da corrupção administrativa e política, formar uma consciência social, criar uma
atmosfera
de confiança mútua sem a qual nenhuma reforma é possível.
Posto assim o problema, talvez pareça um bem delineado trecho de retórica. Vou mostrar, porém, o que significa na realidade.
Estava em Sorrento há algumas semanas quando comecei a dar-me conta da triste situação dos produtores de laranja, que iam perder mais da metade da colheita
porque
as árvores tinham sido queimadas pelas geadas. Nos olivais, o desastre era ainda maior. Toda a colheita estava perdida, e receava-se que as próprias árvores
estivessem
mortas. Vivo num país de laranjais. Tenho algumas noções acerca de sua cultura e estou a par da organização das cooperativas de produtores. Sabia, por exemplo,
que
as famosas laranjeiras de Sorrento eram demasiado velhas e que há muito teriam sido arrancadas pelos produtores australianos.
Notei que dezenas de milhares de laranjas caíam diariamente e apodreciam no chão. Notei também que os produtores deixavam os frutos nas árvores em vez de
os colherem
e empacotarem para expedição. Era seu método primitivo e dispendioso de manter os preços elevados. É claro que não surtia os resultados esperados, porque
as perdas
diárias não eram compensadas pela alta dos preços. Os frutos que sobravam amadureciam demais e eram de qualidade inferior. Em vão procurei viveiros de árvores
novas
para substituírem as velhas que morriam e não voltariam a produzir. Não descobri nenhum.
Então, para edificação minha, pus-me a pregar a idéia de uma cooperativa local que fiscalizasse o mercado, construísse armazéns e instalasse câmaras frigoríficas;
que negociassem empréstimos bancários a juros aceitáveis, financiasse novas plantações e criasse um fundo de prevenção
com vista a épocas más de colheita.
Todoá aqueles com quem falei concordaram que a idéia era excelente. Muitos estavam a par da existência de cooperativas rurais na Dinamarca, na América e
noutros
países. Mas nenhum acreditou que fosse possível organizar uma em Sorrento. Por quê?
Porque ninguém depositava confiança em ninguém. A história das iniciativas cooperativistas na Itália, nos últimos vinte anos, era feita de especulações
e escândalos.
As pessoas honestas com capacidade organizadora recusavam-se a tentar um novo esforço. Os agricultores preferiam ter seu dinheiro na mão
- escondido nos colchões ou atrás de uma pedra solta na parede da sala de jantar.
De novo, enfrentava a corrupção administrativa, a falta de consciência social. Era uma vez mais a história de meus dois amigos jornalistas: a mesma intriga
num cenário
diferente.
Por outro lado, quando pedi - mais para fazer uma experiência do que
com esperança de ser bem-sucedido - licença para apanhar os frutos caídos nos pomares e enviá-los,
às minhas custas, para a Casa dos Meninos, recusaram. Queriam vender-me por metade do preço da fruta boa, mas, visto que me negava a comprar, continuariam
a apodrecer
no chão. Dois dias mais tarde, vi que os enterravam. Não fora por avareza que se tinham recusado a dar-me a fruta caída, mas
com receio de que eu a fosse vender
em proveito próprio!
Fiducia! Confiança! Confiança mútua! Qualquer homem de negócios dirá que é essa a única base para uma economia
próspêra e estável. A não ser, claro, que se trate de um italiano do Mezzogiorno.
Como empreender reformas em semelhante país? É óbvio que é necessário começar pela instrução. Nos países anglosaxômicos é possível desencadear campanhas
de imprensa
acerca de problemas de interesse público: acidentes de trânsito, pesquisas sobre o câncer, proteção à velhice. Deus sabe que nossa imprensa é muitas vezes
partidária,
mas há problemas sobre os quais a opinião é unilateral. Na Itália, não. Eu próprio fiz a experiência.
Dois jornais do sul pediram-me que escrevesse alguns artigos. Recusei, porque não queria pôr em risco meu crédito de observador imparcial ao publicar fosse
o que
fosse num diário de que desconhecia a filiação política. Contudo, depois do episódio dos produtores de laranja, entrei em contato
com os editores dos jornais e
ofereci-me para escrever um artigo a esse respeito, no interesse do bem público, insistindo na importância que teria uma cooperativa para a economia rural
do sul.
Ambos recusaram. Um deles teve a franqueza de me confessar que o diretor nunca aceitaria aquela história.
com os órgãos de informação comprometidos em ideologias partidárias, como espalhar a verdade e pregar a reforma? A resposta evidente é que a reforma deve
começar
por Roma, que os serviços administrativos devem ser depurados e que uma campanha de reeducação tem de partir de cima para baixo.
Resposta evidente, mas incompleta.
O fato é que a Itália é uma nação com menos de cem anos. Não é um país homogêneo como a Grã-Bretanha, com um código unificado e uma tradição de serviços
públicos.
É ainda menos homogénea do que os Estados Unidos, que continuam a ter problemas de jurisdição entre os estados, e permanecem divididos em certos aspectos
importantes
como a segregação racial.
A administração italiana não serve o povo, mas sim quem manda; é um instrumento de fiscalização para o partido que está no poder. Se parece difícil acreditar,
seja-me
permitido contar outra história tirada também de minha experiência pessoal.
Durante nossa permanência na península, tomamos a nosso serviço uma empregada de Sorrento, de trinta e nove anos. Combinamos que viveria em nossa casa e
que, quando
lhe déssemos uma noite de folga, teria de voltar antes de duas horas da manhã. Uma noite saiu para ir ao cinema e só voltou no dia seguinte, à hora do café
da manhã.
Quando lhe chamei a atenção para o fato, desfez-se em lágrimas e respondeu que não se
atrevera a voltar para casa porque tinha ido a Piano di Sorrento, a vinte quilómetros de distância, ver um filme, e se esquecera de levar seus documenti:
identidade
e carteira profissional. Por isso, passara a noite em casa de uma amiga.
Disse-lhe, não sem irritação, que não entendia. Então, explicou. Em Piano di Sorrento era uma estranha. Se a polícia a prendesse, o que era muito possível,
passaria
a noite na delegacia por não possuir documentos de identificação. É claro que podiam telefonar-me para confirmar suas declarações, mas
com certeza não o fariam.
Em Piano di Sorrento não gozava de nenhum direito: provava-o a falta de documentos. Mesmo que apresentasse os documentos no dia seguinte, não evitaria o
fato de
ter sido presa.
Confirmei a história junto de alguns naturais. Afirmaram-me sorrindo que não havia razão para duvidar dela. Não poderia acontecer o mesmo a um turista? Oh,
não! Ou
a um dos ricaços da terra? Claro que não! Mas a um camponês desconhecido. . . Sim, evidentemente!
Há inúmeras histórias semelhantes acerca da administração pública e da maneira como trata os contribuintes. Mas para que relatá-las? Os fatos estão à vista
de quem
quer que passe mais de um mês na Itália. A verdade é que quando o corpo executivo está tão profundamente entrincheirado e, além disso, protegido por códigos
que
datam de Justiniano, uma reforma iniciada de cima é um processo lento e arrasante, que tem, inevitavelmente, de levar dezenas de anos.
Graças a uma imprensa dividida e partidária, os mais bemintencionados movimentos logo são atingidos pelo descrédito. Quando Gronchi foi à América para conversações
importantes com Eisenhower, a imprensa italiana enchia-se de fotografias e artigos jocosos a propósito do escândalo Montesi. A maior parte dos jornais consagrou
uma desprezível meia coluna a Gronchi e a Eisenhower.
Por que começar, então, com uma leve esperança de êxito?, poderão perguntar.
Só há uma resposta, que julgo ser a verdadeira. Antes de dá-la, porém, seja-me permitido expor outro ponto. Há duas Itálias: a do norte e a do sul. A primeira
começa
em Roma e termina nas fronteiras da França, Suíça e Áustria. A segunda começa em Terracina e acaba onde o calcanhar da Calábria e o dedo grande da Sicília
mergulham
no mar.
São dois países diferentes. Os hábitos são diferentes no aspecto físico, na língua, na maneira de pensar, no passado e creio
mesmo que no futuro. O que observei e escrevi aplica-se ao sul; não quer dizer que se possa aplicar também ao norte. O sul está profundamente entrincheirado
na tradição
feudal dos senhores e servos, dos vencedores e vencidos. Portanto, o que choca o visitante é aceito como normal pelos patrícios do sul. Sempre houve pobres
em Nápoles;
sempre houve scugnizzi. Os camponeses foram sempre rendeiros, e os funcionários, mal pagos. Quando se lhes observa que tudo isso são anacronismos perigosos,
explosivos
até no século XX, encolhem os ombros e afastam-se.
Quando um pobre de Nápoles enriquece - como aconteceu com alguns durante a guerra - torna-se enfatuado, macaqueia os vícios dos signori e despreza o meio
miserável
de que
saiu.
Um exemplo significativo da diferença entre este país e a Austrália, a América ou a Inglaterra é o seguinte: nesses países, os ricos consagram parte de
sua fortuna
a obras de caridade, à fundação de escolas e a doações às universidades. O orgulho de uma anfitriã está em dar um baile beneficente mais importante do que
o de sua
rival. Aqui, quando se ganha muito dinheiro, manda-se construir uma vivenda em Capri, investe-se a maior parte na América e paga-se um dólar por dia aos
empregados!
Roma fica a duzentos e quarenta quilômetros de Nápoles; no entanto, política e socialmente se diria ficar a vinte e quatro mil quilômetros. Por isso a reforma
do
sul tem de começar pelo sul. Parece-me até que é pela Igreja do sul que precisa iniciar-se.
É uma afirmação brutal, mas fruto de prolongada reflexão. Fará sorrir os italianos anticlencais. Talvez suscite a desaprovação dos católicos estrangeiros.
Se eu
não fosse católico, poderiam acusar-me de sectarismo. Mas sou católico e, como tal, compreendo minha Igreja. Conheço-lhe a força e as fraquezas humanas.
Sei que
está profundamente enraizada na vida desse povo, mesmo daqueles que dela se desviaram. Sei que se viesse a desaparecer
com todo o seu fausto e seu sólido núcleo
de fé na dignidade individual do homem, esse povo mergulharia numa miséria ainda maior. Falo, portanto, com toda a franqueza de um membro da família.
A Igreja do sul prende-se, com os habitantes, às mesmas origens feudais. A maior parte do que possui em terras, prédios, relicários de ouro e prata, estátuas
ornadas
de pedras preciosas, foi-lhe legado por senhores feudais. Nesse aspecto, em nada difere da Igreja da França, da Inglaterra e do sul da Alemanha. Mas difere
no nepotismo
que a corrompe.
O nepotismo é inevitável num país em que há uma religião estabelecida e onde a maior parte da população é crente. Se todos são católicos, é de prever que
o tio deste
tem de ser bispo, e o sobrinho daquele, cardeal ou abade. É de prever também que a influência da família se exerça para conseguir vantagens ou um passo
em frente
no seio da Igreja para um de seus membros, por intermédio da Igreja.
Quando acontece que o sobrinho do bispo é um banqueiro que concede capitais ao Partido Comunista, ou um patrão que paga salários de miséria aos empregados
e lhes
recusa o direito de se organizar, a culpa de um tende a prejudicar a pressuposta virtude do outro.
Quando o prefeito de Nápoles manda abrir uma nova praça em vez de construir uma escola, e o cardeal de Nápoles não prega um sermão acerca dessa anomalia,
até o fiel
mais paciente quer saber o motivo. Quando um conhecido cavaliere, que conseguiu um empréstimo na Cassa dei Mezzogiorno e o empregou em sua empresa industrial
do
norte, aparece nas cerimônias da Páscoa com uma condecoração do papa ou é recebido à mesa do cardeal, o escândalo é inevitável.
Quando os capuchinhos de batina marrom e as irmãzinhas de preto pedem esmola nas ruas de Nápoles, os habitantes acham isso natural e não fazem perguntas.
Sabem que
essas ordens mendicantes sustentam várias obras de caridade: orfanatos, asilos e lares de velhos. Mas perguntam-se por que são sempre os pobres a dar e
por que,
na missa de domingo, não ouvem pregar o sermão de Lázaro e do homem rico.
A verdade é que se ouve pregar às vezes, mas raramente e não em todas as igrejas. A crítica mais freqüente que ouvi contra a Igreja do Mezzogiorno foi que
"se acomodava
à situação". Essa frase, bastante expressiva em italiano, implica a aceitação, a tolerância e sugere a participação.
Assisti, domingo após domingo, as missas da manhã e da tarde, e nunca ouvi falar de justiça social, nunca ouvi criticar os abusos sociais. Eram numerosos
os lugares-comuns
da piedade mais convencional, mas não havia uma única condenação veemente dos abusos conhecidos por todos e por toda parte espalhados! Não há um Fulton
Sheen no
sul da Itália; Deus sabe, porém, como seriam úteis ali homens de sua tempera.
A obra de homens como Mario Borelli é mais notável ainda devido às dificuldades do clima em que se desenvolve.
Há alguns padres virtuosos, fervorosos e de espírito
esclarecido, mas raramente são ouvidos por causa das hesitações ou do conservantismo da hierarquia.
Se tudo isso parece demasiado vago ou parcial, pense-se por instantes no seguinte: Nápoles é uma cidade de dois milhões de habitantes, quase todos ligados
à Igreja,
pelo menos de nome, visto serem batizados segundo os ritos católicos. Ora, um católico pode renegar sua fé, mas fica marcado para sempre. Poucos, mesmo
entre os
não-praticantes, se atrevem a faltar ao respeito ao clero ou a rebelar-se abertamente contra um preceito claro. No Mezzogiorno, não deve haver um único
capaz disso.
O político mais cínico não deixa de se mostrar na igreja quando se aproximam as eleições. O prefeito menos devoto não se arrisca a entrar em conflito com
o bispo.
Portanto, a Igreja goza de considerável poder: poder espiritual sobre os devotos praticantes, poder de irritar a opinião pública contra os que professam,
mas não
praticam. Se não se serve desse poder é porque muitos de seus clérigos se acomodaram à situação e poucos têm a coragem ou o senso bastante para a recusarem.
Para que se compreenda melhor o problema contarei a história da empregada de Greta.
Greta, uma de nossas amigas, é sueca e casada com um italiano, sobrinho de um bispo. É católica e, portanto, também faz parte da família.
Sua empregada era uma moça serrana, noiva de um rapaz do litoral. O fidanzato mostrava-se impaciente com a primavera, e a empregada temia perdê-lo se se
recusasse
a ele.
Por isso, dois meses mais tarde, Greta viu-se diante de um problema: sua empregada, debulhada em lágrimas, já não o seria por muito tempo; era uma moça
que receava
voltar para casa porque o pai a espancaria, lhe atiraria todos os nomes e a expulsaria de casa. O que fazer? O fidanzato hesitava em casar com uma moça
deflorada.
Não tinha dinheiro para pagar à curiosa por um aborto. Faltava-lhe coragem para se atirar do alto da falésia.
Nossa amiga, que era uma mulher bondosa, observou-lhe que nada daquilo seria necessário. Ela própria explicaria o caso à família. Se não quisesse receber
a filha
em casa, esta teria sempre um quarto na casa de Greta. Se o fidanzato teimasse em não se casar com ela, poderia ter o bebê ali. Greta e o marido pagariam
as despesas.
A criança seria bem recebida e tratada. A empregada acabou por se acalmar, e nossa amiga iniciou as negociações de paz.
A família mostrou-se inflexível. O pai, rude camponês, fechou a porta e o coração à filha depravada. Tinha-se tornado uma putana! Que fosse para junto das
outras
putane das ruas de Nápoles!
Nesse ponto, Greta irritou-se - e as iras de Greta eram dignas de ser vistas. Tinha um vasto e feio repertório que espantou aquela família simples e a obrigou
a
submeter-se a um modesto compromisso. Não renegariam a filha. Se ela convencesse o fidanzato a casar-se a mãe assistiria ao casamento, mas apenas ela. Entretanto,
não voltariam a recebê-la em casa. Isso era demais!
Em seguida, foi ter com o fidanzato. Era um indivíduo atarracado, que mugia em dialeto e se recusou a dar uma resposta definitiva. Talvez se casasse com
a moça.
Talvez não. Precisaria pensar. Sua família não gostaria, naturalmente, de vê-lo casarse com uma moça grávida. Teve de suportar também as iras de Greta e,
embora
nada prometesse, ela notou que ele sentia medo do que a signora pudesse vir a fazer.
Até aqui, tudo corria bem. O céu começava a clarear, quando uma nova nuvem surgiu no horizonte: o parroco, o padre da paróquia! Era um homem de idade madura,
cabelos
grisalhos e rosto bonachão. Vinha - disse - para aconselhar a signora.
Greta, de mãos cruzadas nos joelhos, sorriu e esperou pelo conselho. Era simples e brutal. A presença de uma moça perdida em casa da signora provocava escândalo
na aldeia e esse escândalo aumentaria à medida que os meses passassem. Aconselhava a signora a desembaraçar-se da empregada o mais cedo possível.
Greta sorriu com suavidade e perguntou ao pároco se tinha alguma sugestão a fazer. Respondeu de maneira vaga que havia um centro em Nápoles para essas infelizes.
Greta observou-lhe em tom acerbo que talvez a moça nunca chegasse a Nápoles. Estava desesperada, sentia-se perdida. Podia muito bem atirarse do alto da
falésia.
O pároco encolheu os ombros. De qualquer forma, a moça não se salvava. O que importava, acima de tudo, era proteger a inocência do restante da população.
Greta,
que não acreditava muito nessa inocência conhecia bem os costumes primitivos dos habitantes da terra, não se deixou impressionar. Disse quatro verdades
ao padre,
que se retirou perplexo.
Chegou a vez da madre superiora do convento local para uma conversa entre mulheres a propósito do mesmo assunto:
o escândalo na aldeia. Greta sugeriu-lhe que recebesse a moça no convento, o que abafaria eficazmente o escândalo. A madre superiora mostrou-se horrorizada
com
a idéia e escondeu o rosto com as mãos.
Por último, o marido de nossa amiga foi convidado por seu tio a ir tomar uma xícara de café e conversar um pouco. Não me foi revelado o teor exato da conversa,
mas
desde então as relações entre tio e sobrinho são bastante tensas.
Mais tarde, antes de o escândalo atingir maiores proporções, a empregada casou-se com o fidanzato e aquela tempestade num copo d'água amainou imediatamente.
O interesse da história não reside em seu ar de comédia, mas no fato de aquele pumanismo primitivo continuar ainda disseminado entre o clero do sul.
Isso não é cristianismo nem catolicismo. E não se pode aceitar como manifestação da ignorância campesina. Claro que a ignorância existe: mas é obrigação
do pároco
dissipá-la e ensinar a bondade e a caridade. Nesse caso, como em muitos outros, acomodou-se à situação, e o bispo apoiou-o.
Quis custodiei ipsos custodes? Não o saberia dizer, mas por certo que precisam que velem por eles aqui no sul.
Uma vez mais, o problema está na educação. Não se pode esperar que um padre novo e inexperiente, pouco seguro de si, combata o mal, se não foi treinado
para vê-lo
e se não tem certeza de que seu bispo o apoiará, sejam quais forem as conseqüências, em sua procura da verdade evangélica. Não se pode esperar que o bispo
o apoie,
se o bispo, por fraqueza ou imprudência, aceitou para a Igreja ou para suas obras pias um dom proveniente de fontes que sabe poluídas.
As obras de caridade de Nápoles têm uma terrível necessidade de capital. A Casa dos Meninos é apenas um caso entre tantos. Mas deviam ser recusados - e
recusados
publicamente
- todos os capitais que signifiquem o preço do silêncio ou da "acomodação" em tempo de eleições.
Se há laços de família em questão, em caso algum deveriam ter a menor influência na pregação da verdade.
Vejamos o problema sob outro aspecto. Pense-se nas igrejas que há em Nápoles. Não posso precisar seu número e duvido que alguém o possa. Mas em Sorrento,
cidade
de dez a doze mil habitantes, há vinte e oito! Se em cada igreja de Nápoles e da península fosse pregado, no mesmo dia, um sermão
vigoroso acerca dos males que afligem o sul, expondo suas causas e remédios, sem esquecer nomes, datas e locais, quantas pessoas o compreenderiam e qual seria
seu efeito?
O cardeal de Nápoles tem poder para ordenar isso. Tem fatos, nomes e números suficientes para cem sermões. Tem padres para pregá-los vinte vezes. Por que
não o faz?
Às vezes, é uma questão de oportunismo político: a Igreja italiana apoia os democratas-cristãos que, como todos os outros partidos, têm seus promotores
e pessoas
a colocar. Outras vezes, é por prudência administrativa no seio da burocracia eclesiástica. Outras vezes ainda, é com medo de que as fontes de receita destinadas
à caridade cessem, se determinadas personalidades forem atacadas do alto dos púlpitos.
Afirmo, brutalmente e sem rodeios, que certos membros do clero do sul se serviram do confessionário para conseguir votos - sobretudo votos de mulheres -
para o Partido
Democrata-Cristão.
Seja-me permitido recordar que a Igreja Católica condena o comunismo como uma doutrina herética. Por isso, a crença no comunismo, nos membros do Partido
Comunista,
um voto concedido a seus representantes políticos são casos de consciência para o católico. Como casos de consciência têm de ser resolvidos no tribunal
da penitência.
Ir mais além, com o objetivo de canalizar votos - como fizeram alguns membros do clero
- por meio de preceitos positivos num tribunal moral, é uma prática perigosa e tendenciosa.
Pretender que os fins justificam ou até desculpam os meios é negar a fé cristã.
A confissão é um sacramento da Igreja Católica, um tribunal particular e secreto em que Deus e a alma se encontram, um lugar de absolvição, um canal de
graça. Transformá-la
numa arma política é destruí-la e destruir a fé das pessoas.
Tudo isso está errado, perigosamente errado. A Igreja tem por alicerces doze pobres pescadores e a verdade dos Evangelhos. Creio que ainda não foi declarado
do alto
da Cátedra de São Pedro que os fundos dos partidos e a acomodação à situação - incluindo a diplomacia do Vaticano - possam fazer mais pelo mundo do que
a verdade,
a justiça e a graça de Deus.
Há, naturalmente, outro aspecto da questão. Não se podem atribuir à Igreja todos os pecados de seus membros. A função da Igreja é pregar a verdade e desimpedir
os
caminhos da graça. O indivíduo é livre de aceitar ou rejeitar. Essa é a verdade. A
função da Igreja é espiritual, não pode ser negada pelo livrearbítrio de seus membros.
Mas aqui, na Itália, a Igreja está sujeita ao poder temporal: no plano histórico, pela própria natureza de seu desenvolvimento; no plano económico, pelas
riquezas
que possui; no plano político, pela proteção que abertamente dispensa a determinado partido. Por conseguinte, está sujeita a todas as críticas no domínio
de suas
atividades.
Se seus atos e filiações políticas estão manchados pela corrupção, é urgente que se purifiquem. Se sua situação económica a leva a comprometer-se com pessoas,
que
tentam servir-se de sua influência para alcançar seus fins, terá de se desligar delas custe o que custar. Se tais comprometimentos não existem, então deve
proclamá-lo
claramente, pois há muita gente honesta que acredita em sua existência.
O inverno de 1956 foi terrível para os camponeses italianos. Organizações católicas americanas ofereceram milhares de alqueires de sementes para distribuição
gratuita
pelas zonas atingidas. Essas sementes foram distribuídas sob a direção da Confederazione dei Cultivatori Diretti, organização política que se diz representante
dos
interesses rurais. Segundo as listas eleitorais, apenas quarenta e seis por cento dos agricultores são membros da confederazione.
Segundo notícias correntes na imprensa da época, o grão teria sido distribuído apenas aos membros inscritos no partido e mesmo esses tiveram de pagá-lo.
Não posso afirmar se a acusação é verdadeira ou falsa. O certo é que não ouvi desmentidos disso. O ponto importante para minha argumentação é que a Igreja
está envolvida
no caso. A oferta foi feita por católicos americanos a camponeses aflitos, seus correligionários. Se a acusação for verdadeira, as autoridades eclesiásticas
têm
o dever de denunciar o escândalo. Se não for, a Igreja precisa defender-se dessa acusação. Em nenhum dos casos podia manter-se silenciosa. Tanto quanto
pude descobrir,
nem uma palavra foi dita.
A Santa Igreja, Católica, Apostólica, Romana, exige a todos os seus membros obediência a uma lei moral rigorosa. Tem de aplicar essa mesma lei na administração
de
sua província italiana do sul.
Vejamos agora outra história, passada com o autor. Já devem ter adivinhado que este é um observador arguto, bem informado e sagaz. Simpatiza com as pessoas
e é
um juiz prudente
de caracteres. Se ainda não notaram tudo isso, talvez agora seja um pouco tarde para o demonstrar neste livro.
A história começa com Angela, nossa primeira empregada. Contratamo-la por recomendação de um amigo americano que vive há vinte anos na Itália. Sabíamos
que pertencia
a uma boa família de camponeses, que era robusta, saudável, trabalhadora, inteligente e sobretudo honesta. Tinha freqüentado a escola até a terceira classe
e falava
o italiano e o dialeto. Como não compreendo o dialeto, seu conhecimento do italiano era indispensável.
Contratamo-la. Visto que era da região e honesta, pensamos que nos economizaria dinheiro nas compras. Pensamos que, uma vez que era ela a cozinheira, devíamos
encarregá-la
das compras. Os habitantes de Sorrento têm por hábito aumentar os preços quando vêem um estrangeiro aproximar-se de suas tendas. Por isso, entregamos-lhe
cinco
mil liras e a mandamos ao mercado.
Não nos trouxe troco das cinco mil liras, mas, em nossa inocência, achamos aquilo normal. Estávamos ainda organizando a casa. Havia louças a adquirir, condimentos
a comprar e, por outro lado, é má política do dono ou da dona da casa interferir demasiado na cozinha, sobretudo na primeira semana.
Por isso, durante sete dias, demos pulso livre a Angela. Isso bastou para que nos gastasse, sem pestanejar, vinte e cinco mil liras. Não me teria incomodado
com
a despesa se tivesse visto os resultados à mesa. Mas não vi. A carne era de má qualidade e o ensopado, ainda pior; o vinho, azedo e aguado. Quando nos precipitamos
indignados para a cozinha, verificamos que os armários regurgitavam de conservas que não comeríamos em cem anos, por muito que as apreciássemos, o que não
era o
caso!! Havia frascos de anchovas, latas de alcachofras, picles e azeitonas, salmão defumado e compotas de laranja inglesa; porém, nada de farinha, açúcar,
pimenta
ou sal.
Olhamos um para o outro e desatamos a rir. Por que não? Tínhamos pago vinte e cinco mil liras por isso! Angela era escrupulosamente honesta: as mercadorias
provavam-no.
Mas tinha tanta noção do que eram compras econômicas e vantajosas como de voar para a Lua. Fora todos os dias a Sorrento com a bolsa cheia de dinheiro e
a alma
a transbordar de orgulho. Era cameriera do gran'scrittoreaustraliano. Se alguém tivesse dúvidas, bastava-lhe atentar em suas prodigalidades! Moral da história?
Caveat
America!
A América está tão implicada nesse problema de reforma social como a Igreja, os industriais e as velhas famílias. Está implicada porque inunda o país de
dinheiro.
Tem o dever e o direito de perguntar para onde vai o capital. Bem como o contribuinte que supõe que o dinheiro que lhe confiscam todo ano é utilizado na
elaboração
de uma economia sã e de uma muralha contra o comunismo.
É esse o princípio; mas no sul os efeitos são diametralmente opostos. O desemprego constante, a fome e o desespero, a atmosfera de desconfiança e corrupção,
a espantosa
inércia oposta a uma miséria ainda mais espantosa são outras tantas armas eficazes nas mãos do Partido Comunista. São armas forjadas na América com o dinheiro
dos
contribuintes.
O que fazer? Eis algumas sugestões.
Segundo a Carta das Nações Unidas, a América não tem o direito de interferir nos assuntos de uma nação-membro. Mas quando serve de banqueiro a essa nação,
tem direito,
como qualquer banqueiro, a pedir-lhe contas. Repito que as contas que lhe apresentam em Roma não são exatas. Por quê? Porque, como já assinalei, os números
relativos
à Itália estão viciados. E preciso ver os fatos para compreendê-los.
O diretor de um banco rural vai de quando em vez visitar a fazenda de um cliente para ver como ele a explora. Por que não enviar alguns peritos ao sul,
oficial e
oficiosamente, a fim de avaliarem os progressos da reforma agrária e as necessidades do agregado campesino? Que perguntem por que motivo aldeias inteiras
ficaram
desertas devido à emigração, ao mesmo tempo que áreas estéreis permanecem incultas. Que calculem o dinheiro que foi gasto em tempo de eleições, para elaborar
projetos
nunca realizados. Que perguntem, como fez Dayton, por que motivo os bancos emprestam a juros tão elevados, quando há tanta necessidade de dinheiro a juros
baixos
para o desenvolvimento agrícola e industrial.
Sendo a educação o princípio do progresso e da reforma, que mandem alguns educadores para o sul, a fim de que relatem o que descobrirem. Que as associações
de pesquisas
mandem economistas e sociólogos fazerem inquéritos acerca das fraudes. E que seus relatórios sejam tornados públicos e discutidos no Congresso antes da
aprovação
de novos empréstimos!
Sobretudo, que os inquiridores se mantenham afastados da simpática atmosfera de Roma, Florença ou Veneza! Os italianos suplantam os ingleses na arte sutil
de "endrominar".
Roma é uma cidade de diplomatas e intermediários. Está muito longe das duras realidades do Mezzogiorno. Mas é neste que se
encontra a verdade. . . a verdade autêntica sobre este sedutor e extraviado país. A América e seus cidadãos, assim como o mundo ocidental restante, têm
grande vantagem
em conhecê-la.
Usando de maior brutalidade, direi que há no temperamento italiano, sobretudo no temperamento dos habitantes do sul, uma parte importante de irresponsabilidade
e
uma vaidade que os impede de admitir o fato.
Um filho-família de Nápoles economizará, poupará e ficará endividado para comprar uma Vespa ou um Fiat. Em seguida, arruinará o motor, dará cabo dos freios
e gastará
os pneus até as lonas, dirigindo como um louco.
Se faz isso com seu dinheiro, é lá com ele. Mas se o faz à sua ou à minha custa, é melhor chamá-lo à razão, antes que arrume o veículo.
Tudo isso, bem entendido, é apenas um começo. Incumbe à Igreja preparar um estado de espírito aberto aos princípios da justiça social. Incumbe à América
exigir responsabilidades
de fiscalização na atribuição e utilização de seus dólares. Contudo, se os capitalistas italianos - proprietários rurais, industriais, investidores de capital
-
não se resolverem a limpar a própria casa, não haverá reforma. E se não compreenderem que a única esperança para uma economia estável e pacífica reside
num sistema
equilibrado, nunca se decidirão a realizá-lo.
Esses homens têm medo do que fazem. Por que tentam colocar seu capital na América? Por que tentam impedir que os trabalhadores se organizem? Por que fundaram
a Fronte
Padronale, associação de industriais, proprietários e comerciantes que se opõe a qualquer movimento de reivindicação de maiores salários e melhores condições
de
trabalho? Por que dividiram os sindicatos em dois grupos: o dos gerentes e o dos empregados menores? Por que protegem o primeiro e não concedem ao segundo
senão
a possibilidade de subsistir? Por que têm medo?
Aqui no sul erguem, em torno das vivendas, grandes muros providos de gradeamentos ligados à corrente elétrica, e têm no quintal um cão de guarda. Para quê?
Para
conservarem a distância os mendigos e os pobres. Não se trata de ficção, mas de uma vulgar prática local.
Nós vivemos bastante bem com um quintal sem muros e uma cancela que os fornecedores transpõem de um salto. Não temos medo, porque, graças à evolução, a
um esforço
comum
e à propagação dos princípios sociais, conseguimos edificar uma sociedade democrática suficientemente equilibrada.
No Mezzogiorno, são poucos os que querem trabalhar para o progresso democrático, porque são muitos os que não acreditam nele. Sabem como realizá-lo, mas
recusam
os meios postos a sua disposição. Pior do que isso: combatem-no ativamente.
São homens inteligentes; e, no entanto, tentam remar contra a maré. Talvez o consigam. O Fronte Padronale é a melhor maneira de fazer renascer na Itália
o Fronte
Popolare. Os comunistas não precisam trabalhar na Itália. Basta que deixem os signori trabalharem para eles. . .
Servindo-se dos dólares americanos!
Capítulo segundo
Num lindo dia de primavera fui a Nápoles visitar uma grande empresa industrial, a convite dos membros da família proprietária. Tinham ouvido dizer que eu
estava
escrevendo este livro. Conheciam minhas críticas à fraude que vigora na Itália e não contestavam minhas descobertas. Pediram-me, no entanto, a fim de lhes
prestar
justiça e a outros como eles, que visitasse sua fábrica de Nápoles e visse o que haviam feito em prol da aplicação dos modernos princípios sociais, e também
o que
poderia ser realizado por outros entusiastas de boa vontade e senso econômico.
A companhia Cirio é uma das maiores empresas de conservas da Europa. Seus produtos são exportados para todo o mundo. Possui uma sucursal importante na Argentina,
fábricas no sul e norte da Itália, fazendas em Salerno, Mondragone e outros lugares. A sede principal fica em Nápoles.
Uma das coisas que mais me interessaram, relativamente ao objetivo deste livro, foi o fato de a maioria das ações pertencer a uma única família - a dos
Signorini.
Por conseguinte, todas as decisões têm a marca do que corresponde virtualmente a um conselho de família. Num país como este, com uma população de dois a
três milhões
de desempregados, a companhia pode funcionar como uma pequena autarquia hermética, sem se importar com os princípios sociais. Em vez disso, as condições
de trabalho
dos operários, assim como as técnicas de produção em cadeia, são comparáveis às mais evoluídas das organizações da América, Grã-Bretanha e Austrália.
A fábrica de Nápoles engloba para mais de uma dúzia de blocos de ambos os lados da estrada, no bairro de San Giovanni de Nápoles. Encontra-se a uma pequena
distância
dos piores tugúrios da Via Marittima, no meio de alguns dos mais pobres e antigos prédios de aluguel da cidade. Poucas zonas de Nápoles podem-se comparar a esta
em pobreza, desemprego e abjeta miséria. Por isso, o observador se beneficia de um contraste natural.
Os terrenos da fábrica estão cercados por altos muros de pedra, e as entradas apresentam pesados portões duplos que se abrem apenas para dar passagem ao
tráfego
necessário.
Minha guia era americana, mulher do primogénito da família. Ao transpormos o portão principal, um guarda saudounos marcialmente e apontou para um parque
de estacionamento
num vasto pátio asfaltado. Outro guarda correu a abrir a porta da fábrica, e fomos conduzidos com cerimónia até o edifício administrativo. Apresentaram-nos
a dois
dos irmãos Signorini e ao filho de nossa amiga americana.
Mostraram-nos um modelo reduzido da organização - as fazendas, os centros de produção e o sistema de distribuição. Era impressionante e parecia eficiente.
Uma visita
à fábrica convenceu-nos de que assim era, com efeito. Havia maquinaria moderna, os métodos de produção eram bons e, em alguns casos, melhores do que aqueles
que
vira em outras partes do mundo. Os trabalhadores vestiam uniformes limpos e pareciam absorvidos em sua tarefa. Tudo isso significava pouco para meu inquérito.
Uma
fábrica de conservas tem de ser asseada. Necessita de eficiência se quer ganhar dinheiro num mercado em que a concorrência é grande. Muitos dos operários
que trabalhavam
em cadeia pareciam concentrados em sua tarefa. Mas em Nápoles tem de ser assim porque há duzentos mil à espera de uma vaga.
O que mais me interessou foi a obra da empresa a favor de seu pessoal.
Há mil e quinhentos empregados permanentes na fábrica de San Giovanni. Na época das colheitas, esse número duplica. A maioria são mulheres, como acontece
em todas
as fábricas de conserva do mundo. Muitas são casadas, pois uma das normas da empresa é empregar mulheres casadas numa cidade onde há tantos homens sem trabalho.
Como é de calcular, em Nápoles todas as mulheres casadas têm filhos. Os cuidados da empresa vão para os filhos de suas operárias.
Quando terminamos a visita à fábrica, o chefe de pessoal tomou conta de nós e conduziu-nos de carro até uma rua lateral. Aí, os irmãos Signorini tinham
fundado uma
escola primária para os filhos de suas empregadas. Antes de transpormos a porta, eu já estava preparado para ver mais um desses estabele-
cimentos de ensino sombrios e sujos que abundam na Itália. Mas assim não aconteceu. Deparei com um edifício moderno, onde havia salas de aula cheias de
luz e sol,
providas do mais moderno material, as paredes estavam pintadas de fresco, e o soalho, imaculado. As crianças respiravam saúde e limpeza. Todas usavam uniforme
impecável,
de colarinho branco e gravata de cor diferente, conforme a classe. As professoras eram jovens, de olhos vivos e inteligentes, todas diplomadas pelo Instituto
de
Educação. A diretora era antiga funcionária do Ministério da Educação.
Observei atentamente os cadernos e vi que estavam impecáveis. Quanto aos programas de estudo, pareceram-me de nível bastante elevado.
As salas de aula agrupavam-se em torno de uma vasta sala central: o refeitório. Todos os dias, as crianças tomavam ali uma refeição quente cujo cardápio
era preparado
pelos nutricionistas da empresa. Durante o recreio da manhã, cada aluno se beneficiava com um copo de leite pasteurizado.
A sala da classe infantil incluía um pequeno mas bem apetrechado palco e, através da janela, via-se um grande pátio com balanços e carrosséis de tubos de
aço. Em
qualquer estatística, a escola das crianças de Círio era de primeira qualidade.
As crianças vão para a pré-escola a partir dos três anos e, conseqüentemente, recebem o ensino que corresponde aos cinco anos de curso primário. Todas as
despesas
- livros, uniformes, refeições, assistência médica, vencimento dos professores e do capelão permanente - são pagas pela empresa. Apenas a diretora é paga
pela comunidade.
Ao ver as salas soalheiras e os rostos sorridentes, lembreime de que muitas daquelas crianças habitavam as casas de aluguel superlotadas de San Giovanni
e não pude
deixar de comparálas a outras crianças que tinha visto: os andrajosos garotos que remexem nos montes de lixo, os bebés devorados pelas moscas nas baracche,
as crianças
trabalhadoras das ruelas vizinhas da Via Roma.
Também pensei nas outras cinqüenta mil que não freqüentavam escolas e perguntei a mim mesmo por que as grandes empresas de Nápoles não seguiam o exemplo
da companhia
Círio. Creio que seria um investimento mais vantajoso do que o dinheiro depositado nos cofres do Partido Comunista para evitar uma greve dos ferroviários.
De igual modo me recordei do problema de don Borelli -
o futuro de seus rapazes após seus estudos elementares - e submeti-o ao chefe do pessoal.
- Somos uma empresa - disse. - Temos de nos ocupar primeiramente do nosso pessoal. É nossa intenção, quando essas crianças terminarem o curso primário,
mandar as
mais inteligentes para uma escola técnica e integrá-las, mais tarde, ao nosso pessoal. Não podemos fazer mais. Esse projeto é já um pesado encargo para
a empresa.
Poderíamos evitá-lo. Dado o número de desempregados, facilmente encontraríamos dez vezes mais funcionários do que precisamos, mas a família Signorim tem
consciência
social: são bons italianos e bons napolitanos.
Depois do que vira, estava pronto a acreditar; porém, ainda havia mais.
O chefe de pessoal meteu-nos de novo em seu carro e reconduziu-nos à fábrica. Subimos uma escada e encontramonos numa vasta e arejada sala, semelhante ao
berçário
de uma maternidade. Nas paredes pintadas em torn pastel, as persianas novas punham uma nota agradável de colorido contraste. Havia ali cerca de trinta berços
com
lençóis brancos e cobertas coloridas, todos ocupados. Os bebês berravam, dormiam ou mordiam os punhos com tanta aplicação como qualquer criança saudável
dos países
mais afortunados do mundo.
Havia três enfermeiras diplomadas, especializadas em obstetrícia e puericultura. A um canto, via-se uma fila de banheiras de porcelana imaculadas, uma pequena
cozinha
moderna muito limpa e com esterilizadores, além de outros apetrechos.
Quando a mãe operária, depois do parto, retomava o trabalho, deixava o filho no berçário e ia a horas certas dar-lhe
o seio.
As mães que amamentam os filhos dirigem-se diretamente a uma sala especial onde se lavam e vestem uma bata branca, fornecida pela empresa. Entregam-lhes
o filho.
E uma enfermeira assiste à amamentação, para o caso de o recém-nascido precisar de alimentação suplementar. As mães nunca são autorizadas a entrar no berçário.
Além do benefício que representa para a mãe e para a criança, esse sistema constitui o melhor exemplo educativo de limpeza e higiene que vi em Nápoles.
À noite,
as mães e os bebês voltam para as casas superlotadas dos bassi, e sua boa sorte é motivo de inveja para as que não têm trabalho, instrução ou oportunidade
para oferecer
isso aos filhos.
Do outro lado da rua, fronteiro à fábrica, a companhia Cirio montou um clube para seus trabalhadores, com rádio,
televisão e biblioteca. Mais adiante, há um grande campo de esportes e o edifício onde vivem e treinam os componentes do time de futebol profissional financiado
pela
empresa.
Afinal de contas, tudo isso constitui uma sólida obra social, comparável à da Olivetti. Mas os Signorini ainda foram mais longe. A empresa possui fazendas
próprias
para melhoramento dos pomares e dos produtos lácticos. Os trabalhadores dessas fazendas vivem em casas-modelos inteiramente mobiliadas e pagam um aluguel
proporcional
ao salário que recebem. Têm direito a aposentadoria e a um seguro generoso em caso de incapacidade motivada por acidente ou doença.
Na zona vermelha de San Giovanni, a obra da companhia Cirio é um exemplo notável do que pode fazer uma empresa particular para elevar o nível de vida do
deprimido
sul. É também uma veemente censura às outras empresas que poderiam ter feito o mesmo, mas que até agora nada fizeram.
E eis minha nota final, em que não há má intenção alguma. Os portões desse paraíso dos trabalhadores estão guardados por homens armados de pistolas carregadas:
necessidade
inevitável, devido ao fato de os armazéns e as câmaras frigoríficas da companhia Cirio estarem atulhados de produtos alimentares - enquanto a oitocentos
metros
de distância se erguem os míseros tugúrios onde as pessoas dormem em grupo de quinze num único quarto e as mulheres se vendem para dar de comer aos filhos.
Quando chegou o momento de pôr em ordem minhas notas para este capítulo, estava fatigado e irritado. Queria elaborar um livro construtivo, sublinhar o born
e o mau,
mostrar onde haviam começado as reformas do sul e indicar os auxílios de que necessitavam para estimular seu desenvolvimento. Numerosos escritores - e muitos
deles
italianos - têm explorado vantajosamente as misérias de Nápoles. Eu gostaria de ir mais além.
A fábrica Cirio era um indício de esperança. O próprio Borelli era um exemplo dramático de reforma. Eu precisava de outros como estes, mas fora do clero
e noutros
domínios de desenvolvimento social.
Tinha ficado amargamente desapontado. Havia encetado várias pesquisas, mas todas me levaram inevitavelmente aos fraudulentos sistemas de Nápoles.
O problema do alojamento, por exemplo: regressava a Nápoles depois de uma ausência de cinco anos. A primeira coisa
que me impressionou foi a construção de novos blocos de apartamentos ao sul da cidade, ao longo da costa, até a Torre dei Greco e Castellammare. Alguns
deviam-se
a empresas particulares; outros faziam parte de um projeto governamental de habitação financiado pela Cassa dei Mezzogiorno.
Eu acabava de mandar construir uma casa em meu país, de forma que tinha o cérebro cheio de fatos e números e conhecia pessoalmente os problemas dos investidores
e dos construtores. Comecei a visitar os esqueletos inacabados, observando o método de trabalho, estudando as plantas.
A primeira coisa que me impressionou foi o terreno perdido. Os arquitetos haviam desenhado centenas de metros quadrados de espaço habitável em cada bloco.
Num bloco
de dez apartamentos havia espaço para quinze, mas a maior parte fora desperdiçada em amplos vestíbulos e escadas com o triplo das dimensões normais. Por
outro lado,
não havia armários embutidos nas paredes, de modo que a superfície livre ficaria reduzida à metade quando fosse instalado o pesado mobiliário napolitano.
Seria possível
dizer que os arquitetos do sul nunca tinham um manual de construções econômicas. As facilidades da área de serviço limitavam-se a um tanque de cimento,
sem água
quente, e não havia espaço para estender a roupa. Por isso, continuaria a ser estendida nas varandas, como acontecia nos bassi.
Essa falta de visão redundava num desperdício grave; no entanto, quando vi os preços fiquei deveras pasmado. com uma mão-de-obra dez vezes mais barata do
que na
Austrália, o custo de um prédio era vinte e cinco por cento mais caro! Por quê? Por causa dos materiais, disseram-me: cimento, pedra e ladrilhos. Mas esses
materiais
não eram fabricados pela mesma mãode-obra barata? Sem dúvida, porém os fornecedores reservam para si uma margem importante de lucro. Para justificar alguns
dos preços
que vi, a margem de lucro devia orçar pelos quinhentos por cento. É claro que, com juros de empréstimo bancário de até dezessete por cento, não é de admirar
que
o resto mergulhe na confusão.
Mas há pior. Há uma falta enorme de operários especializados, de calculadores de orçamentos e de inspetores de cálculos. Assim, o mestre-de-obras pode conseguir
um ganho considerável entendendo-se com as firmas que fornecem os materiais de construção. As faturas são falsificadas, e as diferenças, divididas. Um dos
empreiteiros
com quem falei acabava de conse-
guir, após um ano de investigações, descobrir um desfalque de quinhentas mil liras por mês em contas falsificadas!
Como não há uma fiscalização eficaz, e a maior parte do sul pertence por direito feudal a velhas famílias, o preço dos terrenos é muito superior a seu valor
real.
É assim que se processa a fraude: terrenos que não valem o que custam, faturas falsificadas, projetos de construção viciados e, bem entendido, nenhuma esperança
de o inquilino se tornar proprietário ou até de pagar um aluguel aceitável.
Perguntei por dispensários e centros de puericultura. Disseram-me que havia alguns em Nápoles. Acreditei*. Mas, durante os dias e noites que passei a vagabundear
pelas ruas apinhadas de crianças andrajosas, não vi um único. O que vi foi uma imensidade de tabuletas de médicos: "Dottore X, specialista, venere e malattiem
di
pelle!"
Higiene social? Visitas a domicílio por assistentes sociais? Grupos sociais? Disseram-me que as irmãs de caridade tinham a seu cargo parte dessa tarefa.
Iam às casas
dos mais infelizes, varriam o chão, lavavam os doentes, preparavam as refeições e mudavam as fraldas dos bebês. Mas o que havia como obras sociais, retribuídas
ou
não, fora da Igreja? Muito pouco. A assistência, posto que existisse um Ministério da Saúde Pública, estava praticamente reduzida a nada. Por quê? Um dar
de ombros
e um gesto que significava: a Igreja ocupa-se de tudo isso!
Há muito já se notou, sem dúvida, que não me arvoro em defensor da Igreja do sul. Sinto até certa simpatia pelo anticlericalismo italiano, cujas razões
históricas
e sociais compreendo. Mas nem por isso deixa de ser verdade que nenhum italiano, por muito anticlerical que fosse, me pôde indicar uma obra secular comparável
à
da Igreja.
Quando os desafiava com esse argumento, perdiam-se em longas exposições a propósito da intrusão secular da Igreja, de seu oportunismo político, dos compromissos
da hierarquia. Entretanto nenhum foi capaz de me explicar satisfatoriamente por que nenhum censor laico arregaçara as mangas, para fazer o que Borelli fizera
no
sul e don Gnocchi, no norte. Reconheciam que esses dois homens não pertenciam à hierarquia nem à burocracia eclesiástica. Reconheciam também que o que tinham
feito
se devia a sua coragem e esforço pessoal. Então por que não faziam eles o mesmo? A única resposta era sempre um dar de ombros. Ou era um estrangeiro, não
podia compreender.
A verdade é que estava preparado para isso. Queria fatos
e estava pronto a aceitá-los do próprio diabo, mas exigia referências exatas; até então, ninguém me oferecera uma que fosse. Não se esqueça de que eu procurava
resposta
para um problema específico: a melhor maneira de criar para os garotos da Casa dos Meninos um futuro cheio de esperanças. O ideal seria que descobrissem
esse futuro
em seu próprio país, ainda que com a ajuda inicial de benfeitores de além-mar.
Uma obra dessas é duplamente valiosa: beneficia aqueles para os quais foi criada; enobrece quantos participam nela; e alarga-se como um círculo na superfície
à?,
água, granjeando novos benfeitores, fazendo surgir novas correntes de ação. Transfira-se a obra para outro país e se fará a vontade ao desespero, o que
eqüivale
a dizer: "Já nada temos a esperar aqui. Comecemos em qualquer outra parte!"
Cheguei à seguinte conclusão intermediária. Há uma esperança para a Itália, sobretudo para o sul: confirma-o a obra de Borelli. Mas levará dezenas de anos
antes
que essa esperança se transforme em realidade, e em qualquer desses anos pode ser aniquilada.
Para os garotos da rua, não há esperança em seu país. Borelli levou-os o mais longe que podia, atendendo às condições atuais. Sua única oportunidade é emigrarem
e começarem uma vida nova do outro lado do oceano.
Seja-me permitido contar duas histórias simples. A primeira encerra o germe de uma esperança no futuro. A segunda ilustra o desespero do tempo presente.
Num belo dia de abril, depois de uma semana esgotante em Nápoles, pus de lado minhas anotações para ir visitar a Marina Grande, pequena baía ao norte de
Sorrento.
Tinha por guia Juliana Benzoni, mulher transbordante de vitalidade, adversária violenta do antigo regime, cujas façanhas como mensageira clandestina durante
a guerra
dariam matéria para uma história aterradora. Obrigou-me a descer uns degraus de pedra gastos, sob uma abóbada grega, e conduziu-me à pequena enseada, onde
vivem
os pescadores e os construtores de barcos que fornecem todas as aldeias desse Massa até Capri.
Os habitantes da Marina Grande não são italianos. Descendem dos corsários bárbaros que outrora assolaram a costa. Seu dialeto inclui expressões árabes e,
há vinte
anos ainda, viviam completamente separados dos cidadãos da península, que lhes chamavam "i barbari - "os bárbaros".
Não se casavam fora de seu meio, pelo que, ao cabo de vários séculos, surgiram estranhos fenômenos biológicos. Hoje,
porém, há neles mistura de sangue italiano, alemão, inglês e americano. Vêem-se cabeças louras e faces coradas nessas famílias de berberes de rosto estreito
e tez
morena.
São seres primitivos e mansos, de face tisnada e sorriso aberto para o visitante que lhes dedique um pouco de paciência e delicadeza. Lentos de gestos e
palavras,
como todos os pescadores, evidenciam, apesar dos pés descalços, das roupas remendadas e de uma vida frugal e simples, uma grande dignidade.
Raramente se vêem na cidade. Sua existência decorre entre a casa e o mar, no meio dos barcos encalhados e das redes estendidas ao longo da extensa muralha
de pedra
que leva ao cimo da colina.
No inverno, sua vida é rude e frugal; porém, no verão, quando as correntes quentes trazem os peixes e os turistas chegam para alugar os barcos, arranjam-se
muito
melhor. À noite, vêemse as luzes das embarcações nos locais de pesca; e de manhã as mulheres, acocoradas na praia ou contra o paredão, remendam as belas
redes escuras.
As casas, velhas e arruinadas, amontoam-se como se fossem cubos de crianças, e nos aposentos sombrios do térreo há artífices que constróem os compridos
barcos de
duas proas segundo o modelo de seus antepassados mouros.
As crianças, de rosto moreno e pés descalços, são tímidas como potros, mas de grandes olhos espertos e sorriso encantador. De manhã, freqüentam a escola
no convento
das irmãs; à tarde, trabalham em casa, levam recados ou, então, brincam ruidosamente entre os barcos encalhados na enseada.
Caminhávamos pelo meio dos seixos, cumprimentando este e aquele, chamando uma ou outra criança, perguntando pela saúde de uma velha avó sentada ao sol,
envolta em
vários xales. Por fim, subimos uns degraus de pedra bastante gastos e penetramos na sala do primeiro andar de uma das casas fronteiras
ao mar.
com surpresa minha, estava repleta de crianças: trinta e seis. Contei-as, mas disseram-me que faltavam algumas. Embora as horas normais da escola tivessem
passado
há muito, todas se debruçavam interessadas sobre os livros. Algumas resolviam problemas de aritmética, outras liam compêndios de geografia, outras ainda
desenhavam
ou faziam recortes de papel.
Não havia professor; apenas três moças e dois rapazes, entre os dezessete e os vinte anos, movimentavam-se no meio delas, auxiliando-as. Estavam bem-vestidos;
tinham
um aspecto
simpático e inteligente. Ocupavam-se das crianças com afeto e interesse.
Passado algum tempo, reuniram os menores no centro da sala e fizeram-nos executar cantos e danças populares.
Havia qualquer coisa de enternecedor naquela sala velha e poeirenta, com aquelas crianças andrajosas e os instrutores impecáveis; as crianças mostravam-se
vivamente
interessadas; os monitores, orgulhosos de sua tarefa. Enquanto os alunos voltavam para as respectivas carteiras, Juliana Benzoni deu-me as explicações necessárias.
Os instrutores eram estudantes de engenharia, arquitetura ou ciências econômicas. Pertenciam a um clube que se reunia todas as tardes, depois das aulas,
e cujos
membros iam por turnos a Marina Grande dar aulas, fora das horas normais de escola. Não recebiam nenhum salário nem esperavam agradecimentos. Todos os anos
seguiam,
a sua custa, os cursos de férias organizados em Roma para os assistenti sociali, a fim de aprenderem mais acerca da educação das crianças sem recursos.
Observei-os com interesse maior. Ali estava o que eu desde há muito procurava no sul, e não tão poucas vezes encontrara: o impulso espontâneo, desinteressado,
da
juventude pela reforma social, isento do patrocínio de qualquer partido político. As moças eram atraentes e cheias de vitalidade. A maior parte das jovens
napolitanas
consagra, sempre que possível, os anos entre a puberdade e o casamento a uma piedosa meditação sobre os pretendentes, o leito, os vestidos e os mexericos.
Têm tendência
a tomar o aspecto confortável de uma almofada pneumática. Estas, porém, tinham olhos inteligentes e uma conversação interessante. Queriam descobrir novos
horizontes;
apenas precisavam de alguém que lhes indicasse o caminho.
Tinham encontrado esse alguém na pessoa de Juliana Benzoni. Fora ela quem fundara o clube e convencera seus membros a ocupar-se de tarefas sociais. Fornecia-lhes
livros e punha-os em contato com celebridades de passagem.
Na tarde do dia seguinte, sentei-me com aqueles estudantes na vasta sala do térreo da vivenda de Juliana Benzoni, para ver Ruth Draper numa de suas memoráveis
representações.
Os jovens haviam aderido com ardor à idéia de um serviço desinteressado e à necessidade que tinha a Itália de um ponto de partida, ainda que modesto. Estavam
ávidos
de conhecimentos e de contato com o mundo exterior. Quando conversei com eles na sala do clube, seus olhos brilharam de interesse, e as
perguntas que me fizeram sobre organizações econômicas, políticas e sociais iam direto ao fundo do problema.
Ao interrogá-los, notei que procediam todos de famílias da classe média: professores, bancários, guarda-livros, remunerados à razão de noventa mil liras
por mês.
Nenhum pertencia as grandes famílias nobres ou à nova classe dos comerciantes ricos do pós-guerra. O que também me pareceu significativo. A democracia,
como a entendemos,
baseia-se numa classe média, forte e próspera. Na Itália, porém, a classe média é mal paga, goza de uma situação precária, apanhada entre as mós do capitalismo
irresponsável
e do desemprego.
Por isso, a obra desses rapazes e moças era tudo o que havia de mais importante e desinteressado. Era uma sangrenta censura aos censores e políticos que
falam demais
e não fazem absolutamente nada.
.
Minha segunda história é uma história de golfe. Nada tem a ver com a minha habilidade nem com a maneira como meu instrutor me aconselhou a segurar no taco
para
atirar a bola até o buraco número 15. Por isso, pode ser lida sem apreensão.
No cume das serras sorrentinas, logo após Santa Ágata dos Dois Golfos, existe uma longa extensão de terreno ondulado pertencente à comunidade de Sorrento.
De fato,
é um dos poucos terrenos comunais da região. Vai-se até lá por uma estrada pitoresca, e quando se chega, depara-se com um panorama maravilhoso. De um lado,
fica
a baía de Nápoles; do outro, o golfo de Salerno. Falésias majestosas banham-se no azul-claro das águas, cidades de telhados vermelhos, com pomares que descem
até
aos vales e sobem pelas encostas dos montes.
Um dos meus amigos de Sorrento, candidato ao novo conselho municipal, levou-me de automóvel até o local. Depois de ter admirado o panorama, declarei que
se poderia
fazer ali um excelente campo de golfe. Meu amigo sorriu satisfeito, pois a municipalidade tinha a mesma idéia. No regresso à cidade iria mostrar-me os projetos,
desenhados por um conhecido perito inglês. Compreendiam um campo de nove buracos, um pequeno hotel e um teleférico com partida de Sorrento.
O projeto interessou-me. Revelara imaginação, e as perspectivas eram boas. Atrairia uma nova categoria de turista. Desenvolveria o comércio no inverno.
Transformaria
Sorrento num local de estada permanente, em vez de simples ponto de partida para Capri e Ischia. Possibilitaria aos visitantes estrangeiros outras perspectivas além
de ficarem sentados na piazza ou se limitarem à ronda das lojas, aborrecidos e decepcionados. De qualquer forma, era um excelente
projeto.
Estava ansioso por saber mais.
Regressamos à cidade a fim de examinarmos as plantas. O campo parecia bem delineado. O perito inglês fizera um bom trabalho. O hotel estava provido de
todo o conforto
moderno. O teleférico seria financiado pela companhia de estradas de ferro Circum-Vesuviano. Apenas o campo e o hotel ficariam a cargo do município.
"Ah, não! Do município, não!", exclamou meu amigo, sorrindo de minha ingenuidade.
"Uma empresa particular, então? Ou alugariam o local a uma companhia italiana?"
"Também não!" O município tentava, sem grande esperança, conseguir financiadores londrinos.
Fiquei estupefato. Confessei-o sem rebuço. Havia na península capital disponível bastante para financiar dez vezes o projeto. O próprio terreno, atendendo
aos preços
em vigor, era garantia suficiente para obter um substancial empréstimo bancário. Havia milhares de desempregados na península e haveria muito mais, durante
o inverno.
Por que ir procurar capital no estrangeiro? Por que não fazer daquilo um empreendimento italiano?
Meu amigo encolheu os ombros, tristemente. A conversa tomara um rumo inesperado. Observou-me, com certa relutância, que o capital custava muito menos na
Inglaterra,
e que, de qualquer maneira, os capitalistas italianos eram muito cautelosos e difíceis de convencer, sobretudo os banqueiros. Por outro lado, se o projeto
parecia
tão bom, por que não interessaria aos ingleses?
A delicadeza não me permitiu dar a resposta adequada. Os investimentos dependiam dafiducia, da confiança. Se os italianos confiavam tão pouco em seu país,
no bom
senso de seus financistas, na honestidade de seu sistema comercial e administrativo, como podiam esperar que os ingleses confiassem?
Repeti essa história, nessa mesma tarde, ao professor Gaetano Salvemini, que tinha ensinado na Universidade de Harvard e vivia agora em Capo di Sorrento.
Salvemini
é um homem já idoso, mas um dos maiores humanistas do mundo e um dos raros incorruptíveis deste corrupto e desesperado país.
Tem mais de oitenta anos, embora em seus olhos e em seu rosto continue a brilhar a eterna juventude do sol
mediterrâneo. Seu retiro, no cabo arborizado acima de Sorrento, é local de encontro para os estudantes italianos ávidos de esperança e ponto de peregrinação para
aqueles
que ouviram suas lições no Novo Mundo.
Seu comentário à minha história foi formulado com voz calma e comedida, em que se adivinhava ainda o sotaque dos camponeses da Calábria.
"Esse simples fato, meu amigo, mostra-lhe o destino de uma nação que perde a fé em si mesma porque perdeu a fé na verdade. Quando os homens não acreditam
na liberdade,
entregam-se nas mãos de outros a fim de se criarem uma ilusão de segurança. São incapazes de correr riscos, porque o sacrifício os atemoriza. Perderam a
dignidade
e por isso se contentam em ser mendigos. Seus líderes são reis num reino de mendigos: aproveitam-se da miséria dos súditos, mas não fazem o mínimo esforço
para arrancá-los
dessa miséria. É por isso que pendemos para a extrema esquerda e para a direita reacionária, ao mesmo tempo que o partido que se intitula cristão e democrata
tentou
criar um estado confessional nem democrata nem cristão. Pedimos que nos levem, não importa para onde, porque perdemos a coragem de seguir caminhos de homem,
mesmo
se isso significa andar só."
Concordei com o ancião. Seu pensamento constituía a base essencial do que há de mais nobre em nossa maneira de viver. Mas perguntei-lhe, em face da situação
e do
estado de espírito atuais, onde e como encontrar um ponto de apoio para acionar a reforma. Contei-lhe a história de meus amigos jornalistas, seu medo de
perder o
emprego e ir parar na cadeia.
O velho professor resmungou irritado:
"Que percam o emprego! Que vão para a cadeia! Foi o que nos ensinaram Mussolini e os fascistas. Graças a eles, aprendemos a ir para a prisão e a morrer
de fome por
aquilo em que acreditávamos. Aí tem seu ponto de apoio. Não há outro. É a coragem de um homem de alma forte. E a coragem de vários é que proporciona a todos
uma
vida feliz".
Era absolutamente verdade, mas ainda não me bastava. Fizlhe notar que ele sabia, melhor do que ninguém, que o crescimento da verdade e da coragem e seu
desabrochar
num esforço comum seguiam um processo muito lento. Observei-lhe também que era um homem idoso com uma vida atrás de si, que seus colegas se esforçavam por
divulgar
a doutrina da dignidade humana e a necessidade da cooperação e do sacrifício pessoal,
mas se passariam dezenas de anos antes que se pudesse colher o fruto de sua existência.
Os scugnizzi de Nápoles eram o principal tema de meu livro. Podiam considerar-se, em toda a acepção da palavra, um produto dos males que enfernavam a Itália.
Suas
necessidades eram o símbolo de um milhão de outras necessidades. Se fosse possível descobrir uma solução para elas, seria também um símbolo, um ponto de
partida
para a reforma.
Salvemini olhou-me interrogativamente.
"E qual é sua solução, meu amigo?"
Foi sucinto:
"Que emigrem! Que se criem escolas agrícolas e técnicas na Austrália, na América, no Canadá, na Rodésia. Que os embarquem como estudantes, como fizeram
com as instituições
Barnardo e Fairbridge, na Inglaterra. Assim, quando forem adultos, já serão cidadãos úteis de um novo país. Não levantarão problemas de integração. Não
serão um
encargo para o Estado, mas, pelo contrário, membros ativos".
"E de onde viria o dinheiro?"
Respondi que podia ser fornecido pela caridade particular, pelos italianos que se haviam instalado nesses países onde viviam confortavelmente, pelas organizações
eclesiásticas e por grupos de cidadãos. Ele mesmo sabia como essas coisas se faziam.
Concordou sem entusiasmo e fez-me outra pergunta:
"E como pedir a essas pessoas, a essas organizações, que façam o que os italianos se recusam a fazer?"
"Expondo a simples verdade: trata-se de crianças, e uma criança tem direitos no coração de todo mundo."
O que disse a Caetano Salvemini digo-o a todos aqueles que lerem este livro.
Não basta, evidentemente, apontar o que há a fazer. Se um escritor não pode encontrar uma solução prática para os problemas que levanta, mais vale que não
os levante.
De outra forma, é fazer literatura explorando a miséria dos semelhantes.
Quando era jovem e inexperiente, trabalhei algum tempo sob as ordens de William Morris Hughes, primeiro-ministro da Austrália e inimigo irredutível de Lloyd
George
e Woodrow Wilson. O francês Clemenceau admirava-o, e o italiano Orlando detestava-o, provavelmente porque era um dos mais hábeis condutores de massa que
jamais pisou
um estrado. Ensinou-me uma lição que sempre recordei.
"A retórica", dizia, "faz bons políticos e maus profissionais.
Billy era um galês sutil, e seu conselho céltico esteve sempre presente em meu espírito enquanto escrevia este livro.
A Itália é o país da retórica, e Nápoles, a fonte do sentimento. A oratória romana tem seduzido muitos diplomatas, e o encanto do sul, fascinado milhares
de visitantes,
arrastados por aventuras amorosas com uma amante ornada de ouropéis.
Por conseguinte, vou-me tornar pragmático e dizer claramente como as populações de outros países podem auxiliar os garotos das ruas de Nápoles.
No dia 13 de abril deste ano, escrevi em termos idênticos ao embaixador dos Estados Unidos e ao ministro australiano em Roma. Escolhi esses dois países
não porque
sejam os únicos onde a imigração é possível, mas porque sou cidadão do segundo e porque o primeiro está profundamente envolvido nos assuntos da Itália.
Eis o teor de minha carta:
". . . Esta obra [a Casa dos Meninos] atingiu agora uma fase crítica. Don Borelli arranca os garotos da rua, educa-os até os dezessete ou dezoito anos e,
depois,
tem de enviá-los para os incertos e esporádicos empregos de Nápoles, cidade em que há uma multidão permanente de duzentos mil desempregados.
"A melhor solução para esses rapazes - e para a própria obra - seria a emigração para a Austrália, a América ou o Canadá, onde freqüentariam escolas técnicas
ou
agrícolas especialmente criadas para eles. Poderia vossa excelência ter a bondade de me informar - para que possa incluí-los no capítulo final de meu livro
- sobre
os seguintes pontos:
"1) Se essas escolas fossem criadas e mantidas pela caridade particular da Austrália (América), as leis de imigração australianas (americanas), permitiriam
a entrada
de um número limitado de rapazes a cada ano?
"2) Se existem obstáculos a essa imigração, quais são e como removê-los?"
No dia 23 de abril, recebi a seguinte resposta do ministro australiano Paul Maguire:
"Não há nada na Lei de Imigração que impeça a admissão de um número limitado de rapazes, em cada ano, nas circunstâncias expostas. Os rapazes terão, naturalmente,
de satisfazer
às condições estipuladas na Lei de Imigração e submeter-se aos critérios aplicados pelo governo australiano nessa lei. . . Geralmente, a imigração favorece
os jovens,
mas é óbvio que qualquer projeto específico de imigração tem em conta os méritos individuais, as possibilidades de adaptação; a saúde dos imigrantes, etc."
Na essência, a resposta era favorável. Afora a fraseologia oficial, mostrava que o caminho estava aberto às obras de beneficência particulares, para dar
um futuro
aos garotos de don Borelli, na Austrália. O caminho estava aberto, especialmente, aos italianos que na Austrália encontraram uma vida feliz, para repartirem
seus
frutos com as crianças perdidas de seu país natal.
O que fazer?
Há uma dúzia de soluções viáveis, mas sugiro esta, que é a mais prática e proveitosa para os rapazes e para o país que os receba. Que lhes dêem terras,
um prédio
e capital para fundarem uma escola técnica e agrícola numa região de policultura, para onde todos os anos possam ser mandados trinta ou quarenta rapazes
da Casa
dos Meninos, a fim de se prepararem para técnicos ou especialistas agrícolas.
Se o capital estrangeiro e as despesas de manutenção do projeto parecerem demasiados, então que instituam o mesmo número de bolsas em estabelecimentos já
existentes
e se encarreguem das despesas de roupa e alojamento dos rapazes durante o período de instrução.
Em última análise, a segunda solução poderia servir para preparar a primeira turma de rapazes a ajudar os que viessem em seguida, num sistema análogo ao
do Grande
Movimento Fraternal Britânico.
Poder-se-iam escrever volumes acerca da organização e administração dos estabelecimentos já existentes, mas todos esses volumes podem resumir-se num parágrafo:
A necessidade é evidente. O caminho está aberto pela lei. Que os homens de boa vontade façam qualquer coisa.
O que se segue é o texto da resposta do consulado-geral americano em Nápoles, datada de 22 de maio de 1956.
"Sua carta de 13 de abril de 1956 ao nosso embaixador, pedindo informações a respeito da emigração para os Estados Unidos de rapazes italianos entre dezessete
e
dezoito anos, para eventual instrução em escolas técnicas ou agrícolas, foi-me transmitida para que lhe responda.
"Os cidadãos italianos, quando qualificados para um visto de emigração, podem obter esses vistos de acordo com as medidas restritivas que estabelece a Lei
de Imigração
e Nacionalidade de 1952. O limite para a Itália é de cinco mil seiscentos e quarenta e cinco por ano.
"Nesta altura, os pedidos italianos de visto são muito superiores a esse número.!É esse o principal obstáculo à emigração para os Estados Unidos em maior
escala.
O contingente só poderia ser aumentado mediante uma lei votada pelo Congresso.
"Não estou autorizado a exprimir minha opinião quanto à vantagem de estabelecer uma escola agrícola e técnica nos Estados Unidos para jovens emigrantes
italianos.
O governo federal dos Estados Unidos não fiscaliza a instrução no país, visto que esta é um assunto que entra na jurisdição de cada um dos quarenta e oito
estados.
"Atenciosamente,
James E. Henderson, cônsul-geral americano."
Não tenho comentários nem críticas a fazer. Conheço a lei de McCarran. Não sou contribuinte americano, portanto não posso discutir a legislação americana
nem sua
diplomacia.
Mas pergunto ao povo americano, como pergunto ao resto do mundo: Trata-se de crianças! O que se pode fazer por elas?
Capítulo terceiro
Era meu último dia em Nápoles, o último na Casa dos Meninos. Tinha um maço de fotografias na mala e montes de notas e números. No dia seguinte, regressaria a Sorrento,
onde poria tudo em ordem e começaria a trabalhar em meu livro. Mais tarde, quando o siroco desaparecesse e o mar se acalmasse, iria à bonita ilhota de Capri, onde
os primeiros hóspedes da estação já estariam instalados e onde a princesa dólar iria passar a lua-de-mel com um príncipe de opereta.
Voltaria as costas aos bassi e às crianças sujas e sem esperança, e me sentaria sob as glicínias e as latadas, bebendo vinho tinto e admirando as moças na pequena
praça de Capri. Quando a lua nascesse, subiria ao Salto di Timberio e contemplaria, nas cintilantes águas, as lanternas dos barcos de pesca.
Ouviria música e risos - e as vozes enfraquecidas dos garotos da rua se transformariam num débil e lamentoso grito, perdido no murmúrio do canto das sereias.
Sentia-me um tanto envergonhado de mim mesmo. Mas um escritor é também uma espécie de garoto que erra pelas cidades do mundo, compondo suas pequenas momices que
fazem rir ou chorar os leitores.
Por isso, sentado pela última vez na atravancada e poeirenta sala de don Borelli, tomando a última xícara de café e fumando o último cigarro, sentia-me penetrado
pela tristeza daquele inevitável adeus.
Borelli parecia cansado. O dia fora arrasante para ele. O seguinte também seria - e assim todos os dias de todos os anos a vir. Passou os dedos pelo cabelo num gesto
familiar e dirigiume um sorriso fatigado:
- Pensa que seu livro nos ajudará, meu amigo?
Encolhi os ombros e respondi que não sabia. Um livro é como uma criança. É concebido com amor, carinhosamente
amadurecido, e dá-se à luz com grande sofrimento. Seu destino depende de muitas coisas fora do alcance do autor: juízo favorável do agente literário, exigências
dos chefes de redação, gênero de novidades que o editor tenciona apresentar, disposição dos críticos e do público. Disse-lhe que ia escrevê-lo com cuidado e até
com amor e compaixão, com todo o talento de que pudesse dispor. Depois, chi sã? Esperava comover muitos corações; não podia garantir que isso acontecesse.
Borelli estendeu as mãos, num gesto apaixonado:
- Mas é preciso que o leiam, Mauro! Têm de compreender o que se passa aqui. Têm de saber o que sucede às crianças, não apenas às minhas crianças, mas a todas: aos
garotos que já estão nas ruas, às meninas que, a seu tempo, lá irão parar. Se não se decidirem a ajudar-nos, estaremos perdidos.
Concordei com um gesto lasso. Sabia-o tão bem como ele. Tentei explicar-lhe que, se muitas vezes as pessoas não ajudam, é porque têm seus próprios problemas: o custo
de vida, os impostos, divergências domésticas, prestações, doenças na família. . .
Apoderou-se da última palavra e fez dela o motivo de sua réplica:
- A família! É isso que eles têm de compreender! Somos todos uma família, todos! Somos filhos e filhas do mesmo Pai! Árabes, gregos, indianos, chineses, até os napolitanos!
Se um de nós adoece o contágio atinge todos os outros. Uma injustiça feita a um afeta toda a família. O que diz o velho provérbio? Um urso tosse no pólo norte e
um homem morre em Pequim ou mais longe ainda! Veja, Mauro!. . . - Apoiou firmemente as mãos na mesa e inclinou-se para mim, prosseguindo: - Há vinte anos, na Europa,
começamos a ouvir rumores acerca de campos de concentração, de homens mortos em porões sombrios e de crianças espancadas até que traíssem. Tapamos os olhos e os
ouvidos. Fechamos o coração, também. O resultado foi a guerra. E depois da guerra veio um novo terror, o da bomba atómica - terror que aumenta tragicamente de dia
para dia. Agora não é uma nação, mas toda a família humana que está ameaçada. E a ameaça está aqui, em Nápoles! A ameaça está em toda parte onde haja homens sem
pão, sem trabalho, sem esperança para si e para os filhos.
Fiquei calado. O que podia responder? Acreditava na família humana como Borelli. O livro que esperava escrever seria prova disso. A obra de Borelli era uma prova
ainda mais forte. Mas entre essa prova e a transformação havia mil obstáculos,
havia mil homens. Nem todos os obstáculos são maléficos, nem todos os homens são maldosos. A verdade é que não se podem abrir as fronteiras, empilhar três
milhões
de desempregados nos navios e despejá-los em outro país, sem abrigo e sem recursos, sob pena de arruinar outra economia. Não se pode, com um simples toque
de varinha
mágica, fazer surgir uma centena de fábricas em Nápoles.
- Não - disse bruscamente Borelli. - Mas em breve, se não tivermos cuidado, alguém dará esse toque de varinha e surgirão cem mil homens armados. Aconteceu
na China
e na Indochina. Está acontecendo no Egito e no Marrocos. Os homens sem trabalho mergulham no desespero e, se não lhes metemos ferramentas nas mãos, pode
suceder
que se armem com fuzis. E que será então das boas famílias, preocupadas com o custo de vida, as prestações e os filhos doentes? Já não podem divorciarse
da família
humana. Não podem alhear-se de seu futuro e de seu presente. Veja!
Remexeu num monte de papéis e tirou um exemplar daquele dia do Daily American, de Roma. Marcou uma página com lápis azul e a pôs à minha frente.
O parágrafo assinalado era a notícia de uma declaração do procurador-geral Herbert Brownell para liberalizar a lei de McCarran-Walter sobre a imigração.
Havia uma
citação de Richard Arens, relator da Subcomissão para a Imigração. Arens pretendia que a proposta de Brownell modificaria o tipo cultural de nossa imigração,
partindo
do norte e ocidente da Europa para o sul e oriente da Europa.
Li aquilo e devolvi o jornal sem comentários.
Borelli disse, em tom calmo:
- O tipo cultural! Está vendo? O antigo monstro da lenda! A velha, a vetusta heresia! Em que século vive essa gente? Acaso sabem de que falam? Foi isso
que originou
os guetos e os campos de concentração, que destruiu a liberdade. É isso que hoje provoca as guerras. Tem a criança um tipo cultural?
Fiz-lhe notar, com a maior delicadeza possível, que, não sendo cidadão americano, não me assistia o direito, em face de um parágrafo de jornal, de criticar
radicalmente
a legislação americana. Observei-lhe também que as citações dos jornais tendiam a deformar a argumentação e a salientar o desnecessário. Borelli assentiu
de má vontade;
mas nem por isso desistiu de sua tese.
- Ebbene! Admitamos por um instante esse tipo cultural. Admitamos que são necessárias certas despesas e condições para poder dar pão a uma criança ou possibilidades
de futuro a
um adolescente. Na América e na Austrália, os emigrantes do tipo cultural do sul contribuíram para a prosperidade atual desses países. Agora, eles não têm
o direito
de dizer: "Basta! Não os queremos mais! Gozemos juntos o fruto de seu trabalho, mas não nos venham aborrecer com histórias de crianças das ruas e de homens
sem
trabalho nos bassi de Nápoles!"
Foi minha vez de me irritar. Não porque discordasse do argumento, mas porque meu espírito e meu coração estavam cheios de tudo aquilo que eu vira e aprendera
acerca
dos pecados da Itália. Ataquei-o com fatos e números. Citei nomes e circunstâncias que tive de omitir neste livro por motivos óbvios. Disse-lhes que os
americanos
e os australianos haviam feito mais do que muitos dos signon de Nápoles, industriais e proprietários. Acentuei que mesmo nossa indiferença era virtude comparada
com a oposição ativa desses italianos a qualquer projeto de reforma social.
Aceitou muito bem minha réplica. Concordou gravemente, quando enunciei os fatos acusadores e os terríveis números. Não contestou minha argumentação. Reconheceu
que
grande parte da responsabilidade incumbia aos mais próximos parentes da família - os próprios italianos. Entretanto recusou renunciar a sua primeira premissa
de
que éramos todos irmãos e que, se alguns não cumpriam seus deveres, os outros deviam suprir essa falta.
Já não estava irritado e sorriu-me por cima da mesa - um sorriso maroto e engraçado, de acordo com o pai e o irmão dos scugnizzi. Estendeu-me a mão.
- Escreva um bom livro, Mauro. Diga quem somos e o que somos. Não apenas os scugnizzi, mas todos nós, aqui em Nápoles. Diga que nem todos somos maldosos,
alcoviteiros
e guias de turistas. Se andamos esfarrapados é porque somos pobres. Se estendemos a roupa nas varandas é porque não temos outro lugar. Se nos apresentamos
sujos,
é porque temos de descer seis andares para conseguir um balde de água. Somos um povo velho e cansado; mas temos sobrevivido através dos tempos porque somos
corajosos.
Temos a vaidade das crianças, e como elas somos facilmente dominados pelas lágrimas, o riso e a ira. Como as crianças, temos nossa inocência, que nem mesmo
Nápoles
pode destruir completamente. Explique nossa maneira de ser. Explique também a maneira de ser de meus garotos. Se não puder conseguir que entrem nos países
de vida
feliz, pelo menos peça a seus compatriotas que os ajudem a ser felizes
aqui! Que Deus o proteja, Mauro. Que Deus nos proteja a todos nessa época de trevas!
Apertei-lhe a mão e saí, deixando aquele homem, fatigado e leal, sozinho no
charco de luz pálida que inundava a mesa em desordem. O pequeno Antonino estava
à minha
espera para me beijar antes de dormir, e Peppino devia ir buscar-me para meu último passeio pela cidade.
Subi os estreitos degraus até o pequeno dispensário no cimo do edifício e encontrei Antonino à espera. Empoleirado na cama, observou-me gravemente enquanto
me barbeava,
vestia uma camisa limpa, fazia a mala e carregava a máquina fotográfica. Não falava muito: ficava por ali sentado, saboreando um pirulito que eu lhe dera
e seguindo
todos os meus gestos com os grandes olhos atentos.
Só quando acabei de arrumar minha roupa e de estender o pijama na cama ele se decidiu a desvendar-me parte de seus pensamentos:
- Vai-se embora esta noite, Mauro?
- Não, Nino. Esta noite vou jantar com Peppino. Volto aqui para dormir. Partirei amanhã de manhã.
- Ainda o vejo antes de ir embora? Meneei a cabeça.
- Acho que não, Nino. Partirei antes de você acordar.
Seus olhos encheram-se de lágrimas. com o rosto lambuzado de chocolate, seu aspecto era cômico, se bem que triste. Mas não me deu vontade de rir. Aquele
garoto
mirrado era para mim o símbolo de todas as misérias de Nápoles, de toda a injustiça que pesa sobre os inocentes ombros das crianças. Tmha-me afeiçoado a
Nino. Gostaria
de levá-lo comigo. Cheguei a fazer algumas diligências nesse sentido; porém, depois de dez minutos de análise dos problemas que tal projeto implicava, compreendi
que era impossível.
- Voltará, Mauro?
- com certeza, Nino.
Como dizer-lhe que talvez nunca mais voltasse? Como explicar-lhe que o destino de um escritor o arrasta para estranhos lugares e que nunca sabe onde estará
no ano
seguinte? Sentei-me na cama e instalei-o em meus joelhos. Passou-me os braços em volta do pescoço e beijou-me, sujando-me de chocolate a cara barbeada de
fresco.
- Conte-me uma história, Mauro. Uma só, antes de ir embora.
- Qual, Nino?
- Uorso e l'albero - o urso e a árvore.
Era minha adaptação italiana da história do ursinho coala que se alimentava das folhas de uma espécie particular de eucalipto em que vivia e que era tão
guloso que
acabou por comer toda a casa. Embelezei-a com intrigas secundárias em que entravam cangurus, gordos e coloridos papagaios, a grande cacatua vermelha e o
vombate
que escava o chão como uma toupeira monstruosa. Não podia imaginar que extravagantes idéias meu conto despertava no espírito da criança. A versão era tão
rica de
circunlóquios e laboriosas descrições que poderia dar-se o caso de Nino sonhar com dinossauros. O que sei é que a história o encantava.
Por isso, nessa noite, contei a ele pela última vez. Muito quieto, saboreando o pirulito, ouviu-me de olhos muito abertos, perdido na fabulosa lenda desse
país que
nunca veria e onde ninguém passava fome.
Eu alimentava a esperança de que um dia a generosidade de cidadãos comuns e o discernimento de homens de Estado permitissem a Nino entrar nesse país, onde
receberia
instrução, cresceria e viveria como homem livre numa terra verdejante. Mas era uma esperança remota, e seria iludir Nino falar-lhe dela.
Terminada minha história, beijei-o rapidamente, meti-lhe outro pirulito nas mãos e mandei-o para o dormitório. Não podia continuar a tê-lo ali quando via
tão pouca
esperança para ele. Era uma criança, como meu filho. Não pertencia a nenhum partido nem a determinado tipo cultural. Era uma criança das ruas, que comprimia
o rosto
contra o gradeamento de ferro de um jardim onde nunca entraria. Perguntei a mim mesmo se haveria bondade bastante na casa para que lhe abrissem o portão
e o deixassem
brincar um pouco no meio dos canteiros de flores.
Meu jantar com Peppino inspirava-me certa inquietação. Convidara-o sem refletir, julgando que lhe seria agradável passar uma noite num bom restaurante
após nossas
noites de vagabundagem pelas vielas e tugúrios. Hesitara por instantes, depois aceitara com entusiasmo. Só mais tarde me dei conta de que talvez ele não
tivesse
roupa adequada para ir a um local bem freqüentado. Receei que cometesse alguma extravagância para comprá-la.
Não me enganei. Correu toda a cidade de Nápoles para descobrir um casaco a um preço acessível e acabou por encontrar o que procurava: um elegante modelo
azul com
botões de
cobre, como um casaco de marinheiro inglês. com o corte do cabelo, limpeza dos sapatos e lavagem a seco das calças, gastara treze mil liras - metade de suas
economias.
Quando se encontrou comigo nos jardins da Villa Communale, estava tão elegante como um modelo de alfaiate.
Soltei um assobio de admiração ao vê-lo avançar para mim, pomposo e de sorriso nos lábios.
- Gosta, Mauro?
- Bello! - respondi, batendo-lhe nas costas. Depois, obriguei-o a rodar e admirei o casaco curto e muito justo. - Bellissimo!
- A última moda, non e vero?
- A última moda, não há dúvida!
- E a qualidade? - Forçou-me a apalpar o forro do casaco e o reverso sedoso das mangas, depois inquiriu: - É de excelente qualidade, não acha?
- Não há melhor. Tem muito bom gosto, Peppino. Absurdamente satisfeito com o elogio, propôs-me, visto que
era a hora dapasseggiata, darmos uma volta antes do jantar. Por que negar-lhe esse pequeno prazer?
- Ótimo! Vamos dar uma volta.
O vento amainara. A atmosfera tépida e calma anunciava uma chuva miúda e purificadora. Depois das longas noites passadas nos bassi, as pessoas pareciam-me
mais bem-vestidas,
mais alegres e animadas. As moças sorriam e bamboleavam orgulhosamente os quadris, e os rapazes ardentes prodigalizavam-lhes atenções.
Era a primavera que chegava a Nápoles; os napolitanos abriam o coração e os braços para recebê-la.
Peppino caminhava de cabeça erguida, peito dilatado, consciente de sua elegância e altivo porte. Encarava as moças e criticava o aspecto e as roupas dos
rapazes.
Brinquei com ele:
- Aí está o que devia fazer, Peppino; procurar uma moça que condissesse com sua roupa.
Corou e sorriu.
- Era o que gostaria de fazer, Mauro. Esbocei um gesto.
- O que o impede, então? Não faltam moças na cidade. Seu rosto ensombrou-se.
- Por esta noite, sim. Mas amanhã e depois de amanhã? Ficar noivo, casar e ter filhos? Tudo isso me parece remoto, Mauro. Às vezes penso que nunca acontecerá.
Lamentei imediatamente minha pequena brincadeira. A noite começava mal. Mas fora eu que havia abordado o assunto. Tinha de lhe pôr termo. Toquei-lhe no
ombro e declarei
com uma segurança que não possuía:
- Há de acontecer, Peppino. Talvez mais cedo do que pensa. Encontrará um bom emprego. Conhecerá uma boa moça. Terão filhos.
- Aqui, nos bassi? - Apontou para a cidade. - Nunca! Habituado a ouvi-lo falar com serenidade e compaixão da
vida dos scugnizzi, aquela veemência surpreendeu-me. No entanto, era natural. Afinal, a primavera chegava, e o sangue circulava-lhe mais intensamente no
corpo esguio.
Era normal que sentisse o desejo de amar e que o irritasse sua insatisfação.
Para distraí-lo, à falta de algo melhor tomei-lhe o braço e obriguei-o a voltar-se para a baía, onde um grande paquete vogava para o largo, no crepúsculo.
Suas luzes
resplandeciam e a fumaça que saía das chaminés era uma longa bandeira cinzenta.
Tratava-se de um navio britânico que voltava ao porto de origem, procedente de Sydney, Colombo e Áden.
Atravessamos a calçada e apoiamo-nos à balaustrada para o vermos afastar-se. Então falei a Peppino da rota desse navio. Falei-lhe de Colombo, com seus mercadores
de pedras preciosas junto ao porto, das terras verdejantes e das plantações de chá, do Templo do Dente em Kandy. Falei-lhe de Bombaim e das Torres do Silêncio,
dos
encantadores de serpentes em torno da Porta da índia. Falei-lhe de Sabá e dos navios que mandara construir quando Áden era o porto do ouro, do incenso e
da mirra
- os presentes dos três reis magos.
Confesso que minha pequena conferência era medíocre, mas ele ouviu-a com o mesmo prazer extasiado que manifestara Antonino por minha história do coala no
eucalipto.
Quando terminei, voltou para mim o rosto sombrio.
- Está vendo, Mauro? Tudo isso é possível para você, graças ao país em que nasceu.
Sorri contrafeito e disse-lhe que as coisas não eram assim tão fáceis. Também eu tinha de trabalhar, fazer economias e projetos. Se meus livros não se vendessem
bem, talvez acabasse lavando pratos num restaurante de Londres.
Meneou a cabeça e replicou:
- Não é isso o que quero dizer, Mauro, e sabe-o tão bem como eu. A diferença entre nós está em que você pode trabalhar, fazer economias e conhecer todas
essas coisas,
ao passo que para nós há pouco trabalho, economias não existem e a esperança é nenhuma. Tudo porque você nasceu num país e eu noutro. É muito simples.
Muito simples, na verdade; e contudo de trágica complexidade quando se tenta restabelecer o equilíbrio e prestar a Peppino, de Nápoles, tanta justiça como
a Mauro,
de Sydney. Renunciei. A primavera estava chegando, e aquela era minha última noite em Nápoles. Arrastei Peppino pelo cotovelo e conduzi-o para as portas
envidraçadas
de um moderno hotel da Via Caracciolo.
Fora ele que o escolhera. Quando o convidei para jantar, perguntara-me timidamente se podíamos passar antes por aquele hotel para um aperitivo no bar americano.
Notando que seu pedido me surpreendera, explicou que, quando era scugnizzo, costumava ficar à porta à espera dos turistas que entravam ou saíam, pedindo
cigarros
ou ganhando cem liras por transportar as malas até o ponto de ônibus. A idéia de um bar americano fascinava-o. Queria saber como era.
Avisei-o que talvez ficasse decepcionado. Era apenas um bar com filas de garrafas em frente de espelhos trabalhados, bancos de metal cromado com assentos
de couro
vermelho e um empregado de casaco branco que preparava os coquetéis. Ótimo! Era precisamente isso que queria ver.
com efeito, o bar assemelhava-se a tantos outros. Muitos cromados, muitos espelhos, muitos azulejos, e bebida que o salário de um ano não chegaria para
pagar. O
empregado tinha o ar entediado de quem já preparou demasiadas bebidas, e os clientes mostravam-se tão tristes ou alegres como os de qualquer outra cidade.
Sentamos nos bancos, e o empregado, quando lhe pareceu conveniente, veio perguntar o que desejávamos. Pedi um uísque. Peppino refletiu um momento e pediu
o mesmo.
O empregado dirigiu-lhe um sorriso matreiro e fez-lhe uma pergunta em dialeto.
Peppino corou e respondeu irritadamente. O empregado encolheu os ombros e voltou às suas garrafas.
Peppino voltou-se para mim, de olhos chamejantes de raiva.
- O que foi?
- Sabe o que ele me disse, Mauro?
- O que foi?
- Perguntou onde o tinha descoberto e se esperava ganhar uma boa soma, esta noite!
Reprimi um sorriso.
- O que lhe respondeu?
- Que você era um amigo meu e que ele não passava de um. . .
Empregou uma palavra tipicamente napolitana que designa, na verdade, um tipo bastante sórdido.
- Muito bem, Peppino! Esqueçamo-nos dele e aproveitemos nossa noite.
O empregado trouxe as bebidas. Paguei-as. Ficou furioso por não lhe deixar gorjeta. Quando se retirou fizemos um brinde e ficamos silenciosos por momentos,
saboreando
aquela bebida dourada cujo preço representa o salário semanal de um trabalhador napolitano.
Depois, Peppino voltou a sua idéia, num tom tão suave que fiquei surpreendido:
- Somos diferentes, não somos, Mauro?
- Não sei aonde quer chegar. Meneou lentamente a cabeça.
- Claro que sabe, Mauro. E peço-lhe que me responda com franqueza, porque é muito importante para mim e para muitos outros.
Precisava de tempo para refletir. Por isso, devolvi a pergunta:
- Antes de mais nada, diga-me: por que julga que é diferente? Como e em quê?
Peppino apontou desdenhosamente para o empregado do bar.
- Aquele, por exemplo! Você entra neste bar, ou num de Roma, ou de Veneza: o empregado curva-se, sorri, trata-o por signore! Comigo, é o que viu. Sei que
falo como
napolitano e que tenho aspecto de napolitano. Mas é para mim motivo de orgulho e não de troça ou desprezo. Talvez se trate de qualquer coisa que eu não
saiba e você
possa explicar-me. . . Somos amigos, não receie ofender-me.
Encostado ao balcão, sorrindo para nós, lá estava de novo o velho dragão lendário: tipo cultural, grau de evolução, características raciais. Seus nomes
não têm número,
mas o verdadeiro é o de um monstro familiar: o medo!
Pedi mais dois uísques e tentei explicar a Peppino:
- Em primeiro lugar, Peppino, lembre-se de que somos todos diferentes porque este é alto, aquele é baixo e aquele outro parece um barril. Uns são louros,
outros
são morenos. Temos línguas diferentes e apreciamos diferentemente as mulheres, o vinho, os funerais. Não adianta dizer que não há diferenças. Há e muitas. . .
- Mas são diferenças contra as quais nada podemos fazer. Não posso falar como você, nem vestir-me da mesma maneira, nem sequer cortejar as mesmas moças. Muito bem!
Mas por que nos insultamos por causa disso?
- As pessoas que se insultam, Peppino, são em geral maleducadas e incorretas.
- Não! - replicou com firmeza. Colocou cuidadosamente o uísque no balcão a fim de ter as mãos livres para melhor argumentar. - Não, Mauro; se fosse só isso, não
teria importância. Não se trata apenas de má educação e de pessoas incorretas; trata-se dos outros também, das pessoas delicadas, dos signori, daqueles que têm a
fotografia nos jornais. - Inclinou-se para a frente, tocou-me no joelho e prosseguiu: - Sabe o que acontece quando um napolitano vai ao consulado americano pedir
informações acerca da emigração? Não o deixam entrar. Fica do lado de fora com os outros, e ninguém lhe dá importância. Sei, porque fui lá. Acha isso correto? Parece-lhe
delicado? Ou será que o indivíduo que está à mesa é um ser superior e nós, apenas animais anônimos?
Tentei ladear a resposta, sorrindo:
- Isso apenas significa, sem dúvida, que não pode ocuparse de tantas solicitações ao mesmo tempo, Peppino.
- Nesse caso, por que não diz? Por que não se mostra amável e delicado? Ouça, Mauro! Você nota quando alguém não gosta de você. Sabe quando se riem às ocultas de
seu sotaque ou de sua maneira de se comportar. Nós também.
- com certeza! com certeza!
Aquilo podia durar toda a noite. Tentei retomar minha argumentação. Expô-la em termos de polêmica era bastante fácil; mas torná-la compreensível àquele adolescente
de olhos negros e alma perturbada, isso era muito mais difícil. Disse-lhe:
- Temos uma palavra em inglês, Peppino, "snobbery". Sua tradução exata é difícil, mas significa que um homem que tem uma grande casa olha do alto para o que vive
numa pequenina. Significa também que quando se pertence a uma família nobre se sente superior ao operário dos bassi. Significa ainda que a mulher que é rica e usa
vestidos caros despreza a empregada que a ajuda a vestir-se.
Peppino concordou. Compreendia perfeitamente, pois fazia parte de sua experiência diária.
- Tal esnobismo é uma loucura, na medida em que pretende que um homem vale mais do que outro pelo que possui
e não por aquilo que é. Seu mérito se deveria a um acaso de nascimento ou da sorte e não à lealdade de sua alma, à força de sua inteligência, à destreza de suas
mãos. É uma loucura; mas uma loucura perigosa porque se baseia no medo!
Peppino parecia intrigado. A idéia era nova para ele: os signori com medo dos scugnizzi! Não podia compreender.
- No entanto, é verdade, Peppino. É verdade para os indivíduos, as sociedades e as nações. Se sou rico, não me agrada que me lembrem que há crianças que dormem nas
sarjetas. Causa-me mal-estar, azeda-me o vinho, estraga-me o repouso. Se tenho boas maneiras e amigos bem-educados, irrita-me precisar me associar àqueles que partem
o pão com os dedos e fazem barulho tomando sopa. Se há dois banheiros em minha casa, prefiro ignorar que há milhares que não têm água corrente. O que possuo parece-me
ameaçado e não me sinto seguro de meus direitos. . . Começo a ter medo. E porque tenho medo, tornome altivo, tirânico e oponho-me à instrução e às reformas. O medo
engendra o egoísmo; o egoísmo leva à inveja, ao ódio e à suspeita. E assim que se originam as guerras e as revoluções também.
A pergunta seguinte de Peppino não deixava de ser coerente:
- E por isso que é difícil entrar em outro país, porque fazemos barulho tomando sopa?
- Em certa medida, sim. Há quem tema que, permitindo a entrada de gente do sul, nasça outra Nápoles em seu país. Já aconteceu e pode acontecer de novo.
- Se fôssemos bem-educados, tivéssemos boas maneiras e preparo profissional, seríamos bem recebidos?
- com certeza!
- Allora! - Abriu os braços num gesto desesperado, e seu copo de uísque estilhaçou-se no chão. O empregado do bar riu com desprezo, e os freqüentadores olharam com
enfado. - Voltamos ao princípio. Somos diferentes, tão diferentes que os outros sentem repugnância em se juntar a nós. Para mudarmos, precisamos de instrução. Sabe
que não podemos recebê-la aqui nem ir procurá-la no estrangeiro. Por isso, estamos condenados, sem esperança!
Ali estava, terrivelmente exposto, o doloroso dilema do sul, a tragédia daquele povo ignorante e simples. Seu país nada lhes oferecia. As portas dos outros países
mal se abriam ou nem sequer se abriam.
São filhos do sol, embora vivam nas trevas dos bassi. Têm
o fogo do Vesúvio no sangue, mas queima debilmente e mal se lhe nota a fumaça. São os herdeiros de três mil anos de história, mas vivem no vácuo da Europa,
num ponto
em que o progresso parou. . . Vivem num tempo que não é tempo, mas uma síncope no meio dos séculos.
Saímos do bar americano, voltamos à Villa Communale e depois dirigimo-nos a Via Roma. Nosso destino era o restaurante As Três Pombas.
As luzes brilhavam, a comida era excelente, e o vinho, um barolo tinto das vinhas do norte. Como napolitano que era, a tristeza de Peppino não durou muito,
de modo
que pudemos relaxar, rir e cantar quando os violinos começaram a tocar para nós.
Por acordo comum não abordamos mais nenhum problema político, social ou econômico. Éramos dois amigos que se divertiam. Cada um despejou seu repertório
de anedotas
e experiências para alimentar uma amena conversa à mesa.
Saboreamos tranqüilamente o antepasto, o vermelho scorfano do golfo, o frango à cacciatore, o mais gordo que via há muitas semanas, pêras da Sicília e passas
envoltas
em folhas de laranjeira. Quando acabamos a primeira garrafa de barolo, mandamos vir outra, como fazem os bons amigos nas grandes ocasiões, tais como um
nascimento
ou uma boda.
Quando chegamos ao café e ao strega, os outros clientes já tinham saído, e os empregados tiravam as mesas. Os violinistas há muito que tinham ido embora,
mas nós
continuávamos sentados no salão bem iluminado, remoendo nossos pensamentos e lembrando-nos de que era aquela minha última noite de Nápoles - a última noite
que passávamos
juntos.
Estávamos cheios de boa comida, vinho e idéias agradáveis. Peppino estava certo de que se venderia um milhão de exemplares de meu livro; eu afirmava que,
nos doze
meses seguintes, ele e os rapazes mais velhos atravessariam as fronteiras em Queensland ou vogariam em frente da Estátua da Liberdade.
Ambos sabíamos que era falso. Construíramos nosso pequeno castelo de ilusões, desviando o espírito das realidades que nos esperavam a vinte metros das portas
envidraçadas
do restaurante As Três Pombas.
De repente, Peppino fitou-me entre risonho e envergonhado:
- Sabe o que gostaria de fazer, Mauro?
- O quê?
- Beber outro strega e mais outro. Depois, gostaria de telefonar e pedir uma moça para passar a noite no grande hotel de encontros do Vomero.
Compreendia seu estado de espírito. Eu próprio me sentia assim. Mas eu tinha uma casa para onde ir e um ser amado que me esperava. Não obstante, perguntei-lhe:
- Por quê?
- Por que, Mauro? Porque estou só e sinto medo. Porque a minha vida é longa, e há pouca esperança para mim e para tantos outros. Às vezes, é preciso esquecer.
Censura-me?
Como podia censurá-lo? Eu próprio tinha pouca fé em minha coragem para lhe censurar fosse o que fosse. Sentia-me só naquela solitária e cruel cidade de
Nápoles.
Tinha medo de um futuro sem esperança e das noites sem amor. Censurá-lo? Não.
Apontei para as filas de garrafas contra a parede e, depois, para o telefone. Em seguida tirei a carteira do bolso e coloqueia em cima da mesa, entre nós.
- Tem ali todas as garrafas de strega que você quiser. Tem ali o telefone. Há bastante dinheiro nesta carteira. Então?
Olhou-me de maneira estranha. Depois, sorriu e empurrou a carteira para mim.
- E amanhã, Mauro? - perguntou. Sorri por minha vez e encolhi os ombros.
- Amanhã é com você, Peppino; não comigo. Acenou gravemente com a cabeça, olhou para as mãos e depois para mim. Passados instantes, disse:
- Nesse caso, Mauro, vou-lhe dizer o que se passará amanhã. Acordarei cheio de vergonha, consciente de não ser o homem que desejaria ser e estar a dois
passos das
ruas de onde saí.
- E depois?
Uma luz dourada refletia-se nas garrafas de strega, e a carteira continuava em cima da mesa, entre nós. Peppino recuou sua cadeira.
- Agora, Mauro, vai voltar comigo para a Casa dos Meninos, diremos boa-noite, e nos despediremos; e, quando escrever seu livro, dirá que eu era seu amigo.
Vá meglio
cosi, non
e vero;
Concordei com um gesto, pois não conseguia falar. com efeito, era melhor assim. Melhor para ele e para mim, porque dessa forma todo mundo saberia que o
amor pode
alcançar um garoto da sarjeta e transformá-lo num homem mais digno do que muitos outros que toda a vida dormiram em lençóis limpos.
Levantamo-nos ao mesmo tempo. Paguei a conta e saímos ambos para o luar frio da cidade que se dispunha a adormecer sobre os estigmas de seus velhos pecados.
Morris West
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















