



Biblio VT




A noite espreitava quando eles apareceram de repente. Vinham todos a pé e caminhavam sem pressas, à frente, atrás e ao lado de uma carroça. A carroça estava coberta por um toldo cinzento, polvilhado de remendos grosseiros. Um burro que mal se mantinha em pé, esquelético e consumido de chagas e moscardos, puxava a velha carroça. Um rapaz tangia o burro e parecia gostar de lhe bater. Espancava-o furiosamente com uma vara fina. O barulho das pauladas ecoava pelo vale e metia dó ouvi-las a ribombar por todos os lados. O burro caminhava devagarinho. Acompanhavam-no quatro cães negros. Os bichos, sujos e magríssimos, não se cansavam de farejar o chão do caminho empedrado da aldeia, salpicado com os excrementos endurecidos das cabras, das vacas e das ovelhas que por ali passavam pelo menos duas vezes por dia. A carroça chiou demoradamente entre o casario e acabou por estacionar no largo de Montepó. Puseram-na muito perto da fonte, por baixo de um carvalho, várias vezes centenário, enormíssimo em tronco e copa, berçário imenso e dormitório seguro da passarada. Meu irmão Toninho, que tinha estado comigo atrás da janela da sala a ver os forasteiros a passar, ficou aflito. Empoleirado numa cadeira, segredou: - Se calhar vão-nos roubar a ovelha. A porta não tem fechadura, só está encostada... - Está calado, Toninho. Para que é que eles queriam a nossa ovelha? - Para a comer... Ai não, que não queriam! São mais lambões que os cães tinhosos - insistiu meu irmão, que nessa altura era muito baixinho, apesar de ter nascido onze meses depois de mim. - Está calado, Toninho. Não vês que a ovelha anda prenha e vai parir mais dia, menos dia. Ninguém se atreve a comer bichos que tenham filhos dentro da barriga deles. - Tenho medo... - choramingou minha irmã Rosa, empoleirada noutra cadeira. Sempre constipada, sempre com o ranho seco colado ao nariz, apesar de estar bastante alta e já usar tranças, a Rosa ainda não tinha idade para andar na escola nos dias de semana e aos domingos na doutrina. Também eu, agora que não preciso de esconder nada e tudo quero contar como se passou, não estava completamente tranquilo. Mas como era o mais velho, sabia que tinha o dever de não mostrar muito medo aos olhos daqueles inocentes irmãos, sempre muito assustadiços.
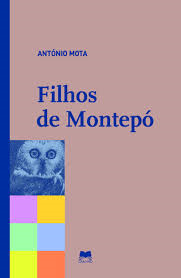
Quando ocorreu o que agora conto, tinha treze anos muito espigados e já não me considerava uma criança. Nessa tarde muito fria de Novembro voltei para casa mais cedo, embora não me apetecesse muito. Minha mãe é que insistiu para que a deixasse sozinha no campo, à beira do rio, a cortar erva para os animais. Fiz o que ela me pediu. Antes que anoitecesse, era preciso cortar lenha. Era preciso acender uma boa fogueira. Era preciso encher com água e feijões uma panela de ferro e pô-la na lareira, junto do incandescente braseiro, para que ela os cozesse. Era preciso dar comida ao porco. Era preciso ir apanhar os dois ou três ovos que diariamente as galinhas largavam no ninho de palha e ir arrumá-los numa cestinha de vime escondida no forno de cozer o pão de milho. Era preciso fechar a portinhola das galinhas para as defender das raposas que, de vez em quando, visitavam Montepó e deixavam para trás muitas penas espalhadas pelo chão. Era preciso mexer-me. E eu ali estava, de repente esquecido das minhas tarefas, a espreitar por trás da janela da sala. E eu ali estava junto de dois inocentes empoleirados em cadeiras, observando com muita atenção os ciganos que, sem avisar, invadiam a nossa terra com a noite quase a cair. Um homem atarracado e a manquejar, que trazia na cabeça um chapéu preto, tirou da carroça um balde de madeira e encheu-o na fonte. Depois de um mês inteiro a chover de dia e de noite, aquela fonte, que no Verão quase secara, golfava água, noite e dia. O cigano pôs o balde em frente do burro que, prontamente, se ajoelhou para beber. Tivemos pena do bicho, bem podiam tirar-lhe o peso da carroça de cima do lombo, antes de lhe matarem a sede. - Chiiii, o burro está com tanta sede! Se calhar, comeu bacalhau cru - admirou-se a Rosa, que aprendeu a gostar de bocadinhos de bacalhau desde que lhe nasceram os dentes. - Os burros não comem bacalhau. Só erva e feno. E grão, quando calha - disse eu, sem muita paciência para aturar aquela inocente, que, além de incapaz de ajudar na lida da casa, ainda estorvava. Sempre o disse e, passados estes anos todos, continuo a afirmar que não é pêra doce ter o azar de ser o irmão mais velho. O irmão mais velho tem sempre muito mais responsabilidades e recebe muito menos mimos. A vinda dos ciganos estava a atrasar as tarefas que eu precisava de acabar antes que escurecesse. Tinha prometido a minha mãe dar a comida ao porco que já estava cevado há muito tempo, cortar lenha, acender a fogueira e cozer os feijões para o jantar, e ainda não tinha feito nada. - Toninho, vai buscar água à fonte antes que anoiteça - gritei. Meu irmão desatou a berrar, muito mal disposto. Que não ia buscar água à fonte nem que eu o rachasse a meio. Não ia, não ia, não ia, e pronto, não ia. - Não vais porque és pior que uma menina. Julgava que tinha um irmão, mas afinal estou bem enganado: só tenho duas irmãs, uma Rosa e uma Antónia... És um cagarola, Toninho. Não prestas para nada, Toninho. Até me dá nojo ter um irmão assim, Toninho! Apeteceu-me espetar-lhe dois estalos para ver se o medo lhe passava. Depois reparei melhor naquela figurinha com lágrimas que tinha pela frente, comovi-me e arrependi-me de ter dito o que não devia. Peguei num regador de zinco, que eu mesmo tinha pintado de verde, a minha cor preferida, e saí de casa. O regador era alto. Cheio, levava quase dez litros de água. Para o carregar cheio era preciso ter muita força nos braços. Mas eu gostava desse desafio: ver quanto tempo era capaz de aguentar sem ter de o pousar. O Toninho demorava uma imensidão a fazer o percurso desde a fonte até casa e só trazia um nico de água que mal dava para encher uma panela. Minha mãe exasperava-se e ralhava: - Porque demoraste tanto, menino? - Fui e vim num instante, mãe! - Punhas menos água, menino. - Não demorei nada, mãe! - Ai, meu Cristo Redentor me valha e ilumine, que eu não sei a quem é que saíste, menino, assim tão feijão-fradinho! - rematava minha mãe, já a pensar noutra coisa qualquer, sempre muito atarefada. O Toninho ouvia e calava. Eu estava farto de saber o resto da fita. Punha-se a fazer festas ao cão e, de repente, desapareciam os dois.
Pouco depois, meus irmãos correram ao meu encontro. Toninho trazia a ponta de um cordel na mão. A outra ponta terminava na coleira do Farrusco. Farrusco era um bicho muito inteligente e tinha comportamentos estranhos. De tamanho médio, patas muito altas e pêlo branco com manchas negras, magro, lambão e medroso, o cão passava o tempo a rosnar e a ladrar. Nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, durante sete noites seguidas, não se cansava de ladrar à lua cheia, sempre inquieto e espantadiço. De tanto latir ficava rouco. Meu pai, farto de tanta cantoria, tinha de sair da cama para o mandar calar. Farrusco obedecia durante um quarto de hora. Depois voltavam os latidos intermináveis que, por vezes, me faziam arrepiar a pele. Aquela música durava até ao raiar do dia. Era o que dizia minha mãe, porque eu não posso testemunhar. Mal caía na cama, dormia como uma pedra o tempo que me deixassem. Mais de uma vez meu pai, com os pés enfiados nos tamancos, em ceroulas de flanela e de camisola interior remendada nos braços, jurou que o havia de matar com uma sacholada certeira na cabeça. O cão havia de cair logo no chão sem ter tempo de perceber o que lhe tinha acontecido. Mas dessa morte bem se livrou o bicho, para contentamento de todos. A meio do caminho, o Farrusco pôs o focinho no ar, afilou as orelhas, começou a farejar a brisa e, de repente, desatou numa corrida desenfreada, desembaraçando-se do frágil cordel com muita facilidade. Admirados e impotentes para o apanhar, fartámo-nos de gritar. - Farrusco, Farrusco, Farrusco. Pois sim, o bicho, de repente tresloucado, corria à velocidade do vento. - Vais levar uma tareia, ai vais, vais! - gritava a Rosa. - Vou arrear-te, mesmo a sério! Farrusco, vem cá! Vem cá, Farrusco! - ameaçava o Toninho. - Vais levar pancada de criar bicho nesses cornos! - dizia eu, sem saber muito bem o significado daquela frase. Limitava-me a imitar o meu pai, que sempre falava assim quando se zangava com a bicharada. Quando chegámos ao largo, vimos o Farrusco muito entusiasmado a cheirar e a lamber uma cadela dos ciganos, e a rosnar aos outros cães. - Farrusco! Aqui, Farrusco! - gritei com a voz mais grossa que consegui fazer. - Que mal tem que o teu cão emprenhe a minha cadela? Onde está o mal, diz-me?! - perguntou, com pedras na voz, o cigano que devia ter a mesma idade que eu. Trazia na cabeça um chapéu preto, sujo e deformado. - Vamos embora, Bilo - segredou a Rosa, que nunca foi capaz de me chamar Abílio, nome que herdei do meu avô materno. - Só vamos depois de enchermos o regador. Eu não lhe tenho medo - respondi entre dentes. - E se ele tem uma pistola? - perguntou o Toninho. - Não tenhas medo, Toninho. Tu não tens mãos?! - disse eu, sentindo de repente o coração a bater com mais força. - Vamos embora - insistia a Rosa. - Temos de levar água, Rosinha... - Mas eu tenho medo... - Eu estou aqui, Rosinha. - O teu cão é melhor que a minha cadela? - insistiu o cigano, mal vestido, com roupas encardidas. Olhava-me de olhos muito abertos, negros como tições, e os dedos dos seus pés espreitavam pelas biqueiras das botas largueironas. - Irineu, Irineu! Ganha juízo, menino! - disse uma cigana que estava junto da carroça, sentada num banquinho. Tinha batatas pequenitas no regaço e cortava-as em duas metades, sem lhes tirar a pele, para dentro de uma panela de barro. - Ganha juízo, meu filho! A mãe do rapaz tinha uma saia preta que lhe dava até aos pés descalços e um lenço na cabeça. Já não consigo recordar-me de que cor era o lenço, mas estou em crer que também era negro como a noite sem lua. Pousei o regador debaixo da bica e pus-me a olhar para aquela gente. Contei sete pessoas. Duas mulheres, sendo uma muita velha, muito magra, com pele muito enrugada e toda vestida de negro; um homem; três crianças; e aquele rapaz que não parava de olhar para mim. com imensa dificuldade levantei o regador que transbordava e estava pesadíssimo. Mas não dei parte de fraco. Não deitei fora nem uma pinga de água e fui caminhando com cuidado, à espera que aparecesse a curva do caminho, para pousar o regador e poder descansar a mão e o braço. A Rosa queria chamar o Farrusco. Não a deixei abrir a boca. - A gente ajusta contas com ele mais tarde, Rosinha! - disse eu, em surdina. - Eu hei-de puxar-lhe uma orelha - disse minha irmã. Ia tão chegada a mim que quase me impedia de caminhar. Quando pus o regador na cozinha, tinha os dois braços a doer imenso. Meu irmão estava com as calças e as meias de lã molhadas, porque, depois de o rapaz cigano deixar de nos ver, quis ajudar-me, agarrando também na asa do regador. Meia dúzia de passos depois, tropeçou numa pedra. Uma golfada de água saltou para as calças e desaguou dentro das chancas que trazia calçadas. O Toninho desatou a barafustar comigo, mas, como eu não me sentia culpado, disse para ele se calar. Quem é que o mandava ser tão enfezadinho? Disse aquilo com a intenção de o magoar. Eu sabia perfeitamente que ele sofria imenso por não ser tão alto nem ter tanta força como eu. - Um dia tu hás-de ver quem é que é o enfezadinho! - dizia ele, engolindo a raiva e a catadupa de gordas lágrimas que teimosamente lhe escorriam pela cara. Ao vê-lo em tão mísero estado, fiquei com problemas de consciência, arrependido por tê-lo magoado. Era sempre assim. Afinal ele era meu irmão, pensava. Quase anão, com mãos papudas, dedos pequeninos e a cabeça um bocadinho avantajada, é certo, mas era meu irmão. Mas era meu irmão.
Cortei a lenha com o cutelo que tinha sempre o gume bem afiado, fiz algumas achas, acendi um fósforo e ateei o lume a duas pinhas secas. Num instante havia uma grande labareda na lareira e uma espessa nuvem de fumo azedo na cozinha. Pus água na panela e preparei a comida do porco. Deitei no balde de zinco, amachucado em muitos sítios, dois punhados de farinha de milho, algumas batatas cruas partidas em pedacinhos e água. O porco já vivia connosco há mais de um ano. Comprámo-lo na feira do Cavalinho, a um casal de velhotes, mal o dia tinha clareado. Para lá chegarmos, meus pais e eu andámos quilómetros e quilómetros por caminhos e atalhos. Mais de quinze quilómetros, se não erro nas contas. Saímos de casa numa noite de lua nova, mais negra que um tição, como é costume dizer-se. Para não tropeçarmos nas pedras, levávamos um lampião a petróleo, que pouco mais alumiava que os pirilampos que por vezes se encontram encostados nas bordas dos caminhos. Meu pai levava o lampião e ia na frente a guiar a parelha de vacas que puxavam o carro de madeira. Eu ia sentado no carro, cheio de sono e a tiritar de frio, apesar de levar sobre a cabeça uma velhíssima samarra, com a gola de pêlo de raposa, gasta pelo tempo e pelo uso. Encostada a mim, com um xaile preto a cobrir-lhe as costas, sempre a cabecear, ia minha mãe. Um enorme manto de silêncio cobria aqueles descampados, de vez em quando sacudidos pelo piar das corujas e do latido, lá ao longe, dos cães. O silêncio era tal, que eu conseguia ouvir a ruminação das vacas. Apesar de estar protegido, eu não conseguia esquecer os lobos. Desde pequenino que toda a gente nos metia medo com a chegada intempestiva dos lobos. Bichos esfaimados, que nos punham os cabelos em pé e os nervos paralisados antes de nos estraçalharem com uns dentes medonhos que cortavam melhor que as mais afiadas navalhas de barba. Os mais velhos diziam essas coisas e nós, os novatos, acreditávamos. Cantavam os galos aquém e além, anunciando o clarear do dia, quando chegámos à feira do Cavalinho. Quem primeiro se lembrou de chamar Cavalinho àquela terra com três casas de granito e um pequeno largo devia ter muita imaginação. Antes de lá ir, eu imaginava que era uma terra onde morava um cavalinho, de crinas ao vento. Um elegante cavalinho branco, com focinho rosado, que passava o tempo a galopar por entre a tenra e verdíssima erva dos lameiros. Um belo animal que só parava para mamar sofregamente nas tetas da sua mãe, abanando o rabo de contentamento. Depois foi a grande decepção. Aprendi que não há nada melhor que o imaginado. Desatrelámos o carro, tirámos um pequeno molho de feno que tínhamos levado de casa, pusemos as vacas a comê-lo e fomos dar voltas à feira, à procura de um leitão grande, gordo e barato. Acabámos por comprá-lo a um casal de velhotes, que afiançavam estar bem capado e ser filho de uma porca muito mansa, de raça avantajada. Uma salgadeira cheia de carne muito saborosa e magrinha, diziam os velhotes. Se meus pais quisessem muita gordura, era melhor irem procurar noutro sítio, disse a velhota, que tinha um xaile preto a tapar-lhe a cara. Meus pais acreditaram nas palavras quase sussurradas do casal e compraram-lhes um leitão que não foi grande, nem gordo nem barato. Antes de selarem o negócio, estiveram a regatear para cima de uma hora. Eu adorava aquele teatro. Colocámos o reco em cima do carro forrado com feno. O bicho tremia, gania e saltava. - Até um porco não gosta de sair da beira da mãe. Coitadinho. - disse minha mãe. Para que ele não saltasse, o carro tinha a toda a volta um taipal de mimosas entrelaçadas, feito pelo meu pai, ainda eu não tinha nascido.
Antes de voltarmos para Montepó, abancámos numa tenda. Fomos servidos por uma moça muito alta e com olheiras, que sorria muito, tinha seios fartos e um ar triste. A moça pôs em cima da tábua estreita que servia de mesa, forrada com um pano aos quadrados azuis e brancos, uma travessa estreita, quatro grandes postas de bacalhau frito, um pão ainda morno e uma caneca de barro grosseiro cheia de vinho tinto. Meu pai tirou do bolso uma navalha para cortar e distribuir grossas fatias de pão. Sem pressas, começámos a comer o pão e o bacalhau frito, que estava um bocadinho salgado. - Dão o bacalhau salgado para os pategos fazerem mais despesa no vinho. São uns espertalhões, estes feirantes - comentou minha mãe. - Está bom, está bom. Assim mata mais a fraqueza - discordou meu pai, com a boca cheia e o queixo engordurado. Meu pai deu-me uma palmada num ombro. - A tua mãe não sabe fritar bacalhau desta maneira. Isto tem um paladar muito especial, não sei que é que lhe põem. Até as espinhas são boas, não achas, Amélia? A Amélia respondeu torto ao marido: - Olha, Miguel, faço de conta que não ouvi o que disseste. Se não gostas do que eu faço, arranja uma criada. Que é que este bacalhau tem de especial? É por estar mal demolhado? Por estar salgado? Por ter sido frito em azeite rançoso? Os homens são como os cães, largam a carne que lhes dão em casa para procurarem o osso babujado que está no meio do caminho. - Lá vens tu com a conversa do osso. Eu estava a brincar, Amélia. Não percebeste que eu estava a brincar? - Bem te conheço, Miguel... A brincar, a brincar dizem-se coisas muito sérias. Meu pai deu-me outra vigorosa palmada nas costas, que me ia entalando. - Estás a gostar, rapaz? Ora prova lá este vinho, que não te faz mal nenhum. O vinho é o sangue da terra, nunca te esqueças, rapaz. Sem vinho um homem não tem força. E eu quero que sejas um homem possante, para me ajudares na terra. Chega-lhe, rapaz! Aprende a ser um homem! Levei outra palmada, lambisquei o vinho, passei a caneca à minha mãe. Senti pela primeira vez na vida que já não era criança. Meu pai já me tratava como se eu fosse um homem feito. De repente muito corado, ele não tirava os olhos dos seios da moça que, de lápis em punho, tinha vindo à nossa mesa fazer a conta da despesa num pedacinho de cartão. - Miguel... - chamou minha mãe. - Que foi? Não estás bem? - Estou bem... E vejo muito bem! O pai Miguel soltou uma gargalhada. Tirou do bolso do casaco a carteira puída, abriu-a com cuidado e retirou uma nota nova que lá estava. Tão esticada que parecia ter sido passada a ferro. A moça levou a nota e voltou, pouco depois, com as moedas do troco. Antes de nos metermos a caminho de casa, já a manhã estava a meio, minha mãe comprou dois quilos de pão de trigo e um quarteirão de sardinhas pequenas, para fritar. Nada mais comprou, o que muito me entristeceu. Nunca fui capaz de esconder o que me vai na alma. Há pessoas que têm jeito para representar, fazendo de conta que a dor é alegria e a alegria, dor. Essas pessoas são, normalmente, grandes hipócritas. Desgraçado está quem neles confia. Minha mãe, ao ver-me de repente tão sisudo e tão calado, perguntou-me se me doía a cabeça ou a barriga. Respondi-lhe que estava bem de saúde, graças a Deus. - Então porque é que tens essa carinha tão triste? - Não tenho nada, minha mãe. Estou muito bem. - Eu sei que estás a mentir, Abílio. Vá, desembucha, filho!
Alta e magra, com o cabelo comprido e muito negro, apanhado em redondo carrapito na nuca, minha mãe não era muito dada a lamúrias. Cedo descobri que era uma mulher desencantada com o mundo e muito pouco sonhadora. Nessa altura pouco sabia sobre a vida dela, mas apercebia-me que sofria em silêncio. Eu pensava que essa tristeza se devia exclusivamente à excessiva pequenez do meu irmão. Lembro-me que a única vez que ela me bateu com um tamanco nas costas e nas pernas, nos braços, nas mãos e em todo o corpo foi quando me ouviu chamar anãozinho ao meu irmão Toninho. Nesse tempo, ainda andávamos na escola e ele era muito melhor aluno que eu. Minha mãe fechou a porta da cozinha e desatou a bater-me e a chorar sem soltar uma palavra. Tive muita pena dela, e também eu chorei em silêncio, arrependido por me aperceber que a tinha magoado imenso. As pancadas não doeram nada, só levantaram o pó da roupa. Doía infinitamente mais ver as suas lágrimas magoadas. Abracei-a com muita força. com as minhas mãos limpei-lhe as lágrimas e pedi, em voz muito baixa, que me desculpasse. - O teu irmão andou dentro desta barriga, tal como tu e a tua irmã. Gostes ou não gostes, o Toninho é meu filho, e teu irmão. Para mim, não há diferenças! - disse ela, fixando em mim seus olhos muito abertos, muito verdes. Foi nessa altura que eu descobri que os olhos dela ficavam ainda mais verdes depois de chorar. Aqueles olhos tão verdes, tão luminosos faziam-me lembrar as cerejas molhadas pela chuva que enfeitam os ramos das cerejeiras antes de amadurecerem. As cerejas. O meu fruto preferido desde criança. Meu pai atrelou as vacas ao carro, indiferente às nossas conversas. Tinha dito que já estávamos muito atrasados. com tantas demoras, e com os dias tão curtos, se não nos puséssemos a caminho ainda chegávamos de noite com o porco a Montepó. É claro que estava a exagerar. Homem de poucas falas, meu pai gostava de amplificar ou diminuir em excesso as coisas, sempre que isso lhe convinha. - Diz o que queres, Abílio. Mas despacha-te! - disse minha mãe. Pelo tom determinado que ela empregou percebi que era a última vez que me dizia aquelas palavras. Se eu me calasse, as rodas de madeira do carro desatariam a rolar lentamente para nunca mais parar. Decidi falar: - Eu queria ter uns sapatos, minha mãe. Nunca tive nenhuns, e já fiz doze anos... - disse eu, a medo. - Eu também queria ter muitas coisas boas, e contento-me com bem pouco, meu filho. Gostava de ter um cordão de ouro. Era o que mais gostava de ter. Sempre sonhei com um cordão de ouro. É um sonho de criança. Um cordão dá muito respeito a quem o põe e é um valor que se tem à mão para acudir a qualquer desgraça. Gostava muito de ter um cordão grosso, que desse três voltas à roda do pescoço. Eu queria, queria, mas falta-me aquilo com que se compra tudo. E não me queixo, meu filho. Não me queixo. É que andam aí certas pessoas que não têm ambição na vida, entendes? Certas pessoas que deviam meter os pés ao caminho e não o fazem... O que elas querem é vinho! Vinhaça e mais vinhaça para dentro do bandulho! Ai, se eu tivesse nascido homem outro galo cantaria. Não tenhas a menor dúvida, meu filho. Aquela conversa tinha como destinatário o meu pai que gostava de lavrar a terra com o arado, de plantar e fazer as sementeiras. Também gostava de beber imenso. E esperava com uma infinita paciência a incerteza das colheitas. - Não temos dinheiro para sapatos, rapaz. Anda com essas botas, que ainda te ficam muito bem e assim que puder, compro-tos. vou dar-te uns sapatos de fidalgo! - respondeu meu pai, laconicamente, atrelando as vacas ao carro, pouco sensibilizado com as minhas lamúrias. Minha mãe olhou-me nos olhos e sorriu. Um sorriso doce que me desarmou. - Está bem, eu espero. Mas não há-de ser por muito tempo - ameacei. Sentei-me no carro e não abri a boca durante a viagem. Não me conformava com a vida que levava em Montepó.
Doía-me nunca termos dinheiro para comprar o que mais desejávamos. A meio da viagem de regresso a Montepó, deu-me vontade de me meter numa aventura. Apeteceu-me saltar do carro e desatar a correr por aqueles caminhos de cabras, sem destino marcado. Fugir, fugir depressa para nunca mais aparecer. Correr, correr sempre até encontrar uma terra onde houvesse fartura de tudo, onde eu pudesse ganhar o suficiente para comprar um cordão de ouro para oferecer a minha mãe e quantos pares de sapatos e botas quisesse, de muitas cores e feitios. Correr, correr sempre até encontrar uma terra onde houvesse algum médico que receitasse um medicamento que fizesse crescer o Toninho. O carro chiava entre os atalhos, as campainhas que as vacas traziam ao pescoço tilintavam pachorrentamente naquela manhã nublada. Os coelhos saltavam das tocas cavadas no chão, junto dos tojeiros e das urzes, e fugiam com os rabos bem levantados. Assustadas, as perdizes levantavam voo e assustavam minha mãe. Ela dizia que o coração lhe caía aos pés. Com uma vara envernizada na mão, meu pai assobiava sempre a mesma cantiga, indiferente a tudo. Fitando o céu cinzento daquele pardacento Novembro de mil novecentos e sessenta e cinco, também eu assobiava muito baixinho. Quem assim assobiava era um rapaz magoado com as desigualdades do mundo, incapaz de compreender a tranquilidade daquele homem que assobiava monotonamente sempre as mesmas modinhas.
Quando se apercebeu de que íamos levar-lhe a comida, o porco começou a grunhir e a investir violentamente com o focinho contra a porta velha, esburacada no fundo. Eram roncos muito esganiçados, que amedrontavam a Rosa. O porco era um bicho enorme. Tinha muitas manchas escuras espalhadas pelo corpo reboludo, peludo, sempre sujo. Não adiantava forrar-lhe o cortelho com tojo verde, rama de giesta, caruma ou palha. Ele tinha a mania de fossar no chão e de pouco adiantaram os arganéis de arame que meu pai lhe meteu no focinho, muito bem apertados, a ver se ele desistia de revolver o cortelho. Com aquele estranho anel agarrado no focinho, o porco gania com dores, procurava a água fria da pia, deitava-se. Dois ou três dias depois, conseguia ver-se livre do arganel e voltava a fossar. Meu pai só desistiu de lhe enfiar arames depois de o focinho ter ficado rasgado em vários sítios. Normalmente, era minha mãe que lhe dava a comida, três vezes por dia. O bicho via mal, mas conhecia-a muito bem e ficava quieto e calado quando ela lhe falava com voz mansa: rucinho, rucinho, está quietinho, está caladinho, rucinho, rucinho. Comigo não acontecia o mesmo. Ele não se calava e investia contra o balde da comida, e às vezes dava pinotes e soltava grunhidos muito estridentes. Um dia saiu disparado pela porta, passou pelo meio das pernas do Toninho e levou-o em cima do lombo uns bons metros. O Toninho cavalgava o porco e gritava. Assustadíssimo, o porco grunhia e corria como uma bala. E eu dizia, aflito: - Agarra-te, Toninho, agarra-te, Toninho! O Toninho acabou por sair do lombo do porco em voo picado. Na aterragem bateu com as costas no chão pedregoso e desatou a gritar: - Ai que eu morri! Ai que eu morri! - Levanta-te, Toninho. Não foi nada, vai cercar o cabeçudo do porco! - Ai que eu parti as costelas, ai que eu morri! - Cala-te, Toninho! Vai cercar o porco, que eu sozinho já não consigo. Corre, Toninho! - dizia eu, correndo desesperadamente atrás do estúpido do bicho, que saltava, corria e defecava pelos caminhos de Montepó. - Estou todo partidinho, estou todo partidinho - continuava a gritar o Toninho, estatelado na calçada, indiferente ao meu pedido de ajuda. - Levanta-te já, ó enfezadinho! O Toninho levantou-se e seguiu-me. Depois de ter percorrido todas as ruas e vielas de Montepó, já com o corpo bastante marcado com as vergastadas que eu e meu irmão lhe demos, o porco, a mancar e ofegante, voltou ao cortelho sem custo. Parecia um cãozinho manso atrás de minha mãe, que nos mandou esconder atrás de um cancelo. O bicho seguia a voz meiga, quase sussurrada de minha mãe, que atirava para o chão grãos de milho que ia buscar aos bolsos do avental azul, coçado e desbotado. - Rucinho, rucinho, anda cá, anda cá, rucinho, rucinho - dizia ela, sem parar. Depois de termos fechado a porta do cortelho, minha mãe ensinou-nos que as palavras meigas têm mil vezes mais força que os berros mais altos e as pancadas mais dolorosas. Na altura não percebi muito bem o que é que ela nos quis ensinar.
Deitei a comida ao porco, fechei a porta do cortelho com cuidado e voltei para a cozinha. Receando que os ciganos aparecessem de repente, meus irmãos andaram sempre colados a mim. A Rosa era a que sofria mais. Quando ela não queria comer caldo de nabiças, que sempre detestou desde que começou a comer com a colher, minha mãe, exasperada, costumava dizer, fazendo uma cara muito séria, que se ela não esvaziasse a malga, mais dia, menos dia, viriam os ciganos buscá-la. Depois punham-na em cima dum burrinho e iam vendê-la a uma feira que ficava muito longe de Montepó. A feira ficava numa terra tão longínqua que era preciso andar sete dias e sete noites seguidas para lá chegar. Antes que tal desgraça acontecesse, a Rosa calava-se e comia as nabiças sem pestanejar. Também eu, com a idade da Rosa, penei imenso com essa história horrível dos ciganos porque abominava salada de tomate, arroz de tomate, cebolada de tomate, caldo de tomate. Minha mãe começava com aquela conversa, com voz muito meiga, e eu acreditava piamente no que ela dizia. Imaginando-me muito bem atado com cordas grossas em cima de um burro, ficava aterrorizado, abria a boca e deixava que minha mãe lá metesse as comidas feitas com tomate. Depois de muitas zangas e ameaças, comecei a apreciar esse fruto vermelho e carnudo, sobretudo quando a ele se junta cebola em rodelas finas e os temperos do costume: sal grosso, azeite e muito vinagre tinto. Nessa altura não conhecia os orégãos, que não é tempero do Norte. Eu aprendi a gostar de tomates, mas a Rosa nunca aprendeu a gostar de nabiças. O Toninho, esse, era uma boca abençoada, como dizia meu pai, contente por vê-lo despachar num instantinho toda a espécie de comida que minha mãe lhe dava. Por vezes, eu punha-me a vê-lo a empanturrar-se. Devorava tudo a uma velocidade extraordinária. Sorvia e mastigava como o nosso porco. Limpava o prato e a malga e continuava com fome. Era estranho que toda aquela comida não o fizesse crescer e engordar. Uma vez, minha mãe resolveu acreditar que o Toninho não crescia porque tinha a barriga cheia de lombrigas. Obrigou meu pai a fazer uma longa caminhada à farmácia para comprar um xarope. O Toninho tomou aquele xarope da cor do mel e amargoso às colherzinhas. Esteve um dia inteiro a caldos de arroz muito fervido e fartou-se de desovar lombrigas muito gordas, muito compridas, muito brancas, ainda vivas, ensarilhadas, repugnantes. A partir desse dia, o Toninho ficou um eterno faminto, mas com pouco crescimento. - Isto é obra do Diabo - dizia minha mãe. Na nossa família, tanto do lado de meu pai como de minha mãe, não havia memória da existência de anões. - Temos na família homens altos como torres. Não entendo! - dizia minha mãe, apreensiva. A mais alta da família era a minha tia Olinda. Para entrar nas casas tinha de se abaixar para não bater com a cabeça nas ombreiras das portas. Como tinha os pés muito compridos, todos os anos ia à feira do Cavalinho encomendar tamancos com o número quarenta e cinco. Todos os anos, mal começava o Outono, o tamanqueiro espantava-se com pés tão avantajados. E todos os anos repetia que ela era a única mulher das redondezas e talvez de Portugal inteiro com pés tão estreitos e tão compridos.
Magra como um espeto, a tia Olinda, irmã mais velha de meu pai, nunca se casou. Vivia ao fundo de Montepó numa casa muito pequenina com as paredes cheias de litografias de santos e santas. Havia, no entanto, duas - Santo António e S. Gonçalo - que estavam emolduradas e tinham maior tamanho. Estavam no quarto, por cima da cama. Muitos anos depois é que descobri que eram santos casamenteiros. A tia Olinda ganhava a vida a tecer mantas num velho tear. E quando não tinha trabalho ajudava a minha mãe em casa e no campo. Havia sempre muita roupa para lavar e pontear, gado para alimentar, campos para regar e cavar. Havia sempre necessidade de semear e colher. Eu gostava muito da tia Olinda. Quando era pequenino, nos dias frios de Inverno, ia dormir com ela. Antes de nos deitarmos, bebíamos uma malguinha de cevada, muito doce, a ferver. Se não havia cevada, fazia chá de erva-cidreira, muito amarelinho. Mas eu gostava mais da cevada. Sabia-me bem bebê-la às colheradas, sorvendo e soprando, aquela bebida negra, a escaldar a língua, feita numa panela de ferro, no lume da lareira. A tia Olinda era muito quente e eu dormia abraçado a ela. Depois cresci, ”espiguei”, como dizia a minha mãe, e a Rosa apoderou-se do meu lugar. O Toninho nunca se afeiçoou a dormir com a tia Olinda. Ela dizia, com muitos risos, que ele a abraçava com muita força, que parecia um alicate agarrado ao pescoço, o que a fazia acordar com falta de ar. Logo ela, que não estava habituada a que ninguém a abraçasse. Era assim que ela dizia, com muitos sorrisos, e até parecia verdade. Mas a verdade era outra, bem diferente. Até aos dez anos, o Toninho deitava-se em lençóis secos e de manhã acordava com eles ensopados. Como dormíamos na mesma cama, às vezes também eu ficava com as ceroulas molhadas, empestadas com o cheiro acre e intenso da urina. - És um porco, Toninho! Olha a nojice que fizeste!? - dizia eu, mal acordava, sentindo as pernas húmidas. O Toninho fazia de conta que dormia e punha-se a ressonar com muito alarido, convencido que eu acreditava naquele sono tão repentinamente profundo. - Quando é que aprendes a apertar a torneira, Toninho? - gritava eu, aplicando-lhe, às vezes, dois ou três cascudos na cabeça. Meu irmão respondia-me, a medo, que não tinha culpa de não acordar para ir à procura do bacio de esmalte branco, pintalgado de azul, que estava debaixo da cama. Eu não conseguia entender porque é que o Toninho não se levantava a meio da noite e, de joelhos, não tacteava o penico. Nem precisava de acender com um fósforo o toco da vela poisada em cima de uma cadeira. - Preguiçoso! E depois eu é que me amolo, Toninho! - gritava eu, aplicando-lhe mais dois ou três carolos na cabeça. O Toninho começava a chorar em silêncio, com o nariz enfiado na travesseira. Chorava, envergonhado, e eu acabava sempre por ficar condoído com o sofrimento do meu irmão. Quando me confessava, falava sempre nesse pecado. Minha mãe vinha sempre em socorro do Toninho com o sabão, a toalha e uma bacia de folha, cheia de água muito quente, se as manhãs estavam frias. Minha mãe consumia-se quando a chuva caía sem parar dias seguidos, encharcando os caminhos, fazendo crescer os regatos e as bicas de água. Como a roupa era pouca, ela ”via-se e desejava-se”, como costumava dizer, para conseguir lavar e secar os lençóis e as ceroulas para que pudessem ser utilizados no mesmo dia. Quando as intermináveis pingas de chuva tilintavam nos telhados e fustigavam as pedras da calçada, minha mãe, logo de manhã, punha um saco de serapilheira na cabeça, pegava numa bacia cheia de roupa e atravessava Montepó com ela à cabeça. Ajoelhava-se junto do ribeiro e, numa pedra comprida e gasta, ensaboava cuidadosamente a roupa e depois passava-a na água corredia, indiferente ao frio, às chuvadas e aguaceiros. Quando voltava, molhada dos pés à cabeça, acendia uma grande fogueira na cozinha, estendia varas entre duas cadeiras e ali punha a roupa que, depois de seca, cheirava mais a fumo que a sabão. - É uma vergonha, Toninho. Já viste o que a mãe passa por causa de ti? És um porco! A Rosa é muito mais pequena que tu e não se mija. Que nojo, Toninho! Sempre tão repontão, o Toninho emudecia. - Ele é teu irmão. O tempo tudo conserta - respondia minha mãe, sonhando com um coberto onde houvesse um tanque com água corredia. Um dia, farto de ver o estendal na cozinha, que era um bocado apertada, resolvi apressar a secagem da roupa. Pus um grande molho de palha na lareira. Daí a nada, a palha transformou-se em altas labaredas e as faúlhas incandescentes começaram a voar por toda a cozinha, como se fossem um enorme enxame de abelhas reluzentes. O enxame poisou. Surpreso e aflito, retirei como pude a roupa estendida na vara. Mas já não fui a tempo. A roupa fumegava imenso e cheirava a queimado. Para que não ardesse, atirei-a para o meio da rua e despejei-lhe por cima a água que havia no regador. Minha mãe zangou-se muito, berrou comigo, queria bater-me com um tamanco. A roupa, polvilhada de buraquinhos pretos, fazia lembrar uma peneira. Para a remendar, minha mãe fez serão até mais tarde. E nós, sentados na preguiceira, cabeceando com sono, ficámos à espera que ela acabasse para fazermos a cama e nela pudéssemos dormir.
O fumo encovado na cozinha pôs-nos a tossir. A fogueira estava reduzida quase a nada, só tições fumegantes. Pus na lareira mais lenha e três pinhas muito secas. Soprei com força no lume, que logo ateou as pinhas e fez crescer uma aconchegante labareda. Como já não se via quase nada, com um pauzinho que ardia timidamente, peguei lume ao pavio da candeia de petróleo, poisada num dos buracos da parede. O Toninho foi para a janela da sala assobiar. Metia os dedos na boca e soltava assobiadelas tão agudas que pareciam furar os tímpanos de quem estivesse junto dele. O Toninho assobiava para que o Farrusco aparecesse. O cão, entretido com os seus semelhantes, não quis ouvir as assobiadelas do meu irmão. Nós já sabíamos que, se não fosse enxotado, o Farrusco levava a melhor sobre todos os outros machos. Depois de muito rosnar, mostrar a dentuça e até morder, acabava sempre por ser ele o escolhido pelas cadelas com cio. Em Montepó, raros eram os cachorros que não tinham manchas escuras espalhadas pelo corpo. Um dia, eu e o Toninho pusemo-nos a multiplicar e a somar e ficámos espantados. Contando apenas as cadelas de Montepó, Farrusco tinha sido, ao longo dos seus sete anos de vida, pai de mais de quinhentos cachorrinhos. É claro que quase todos viveram somente algumas horas, ou nem isso, um dia ou dois, com muita sorte. Acabavam por ser arremessados para dentro de um fundo e estreito buraco, cavado num campo ou num quintal. Ao nascer do dia ou ao cair da noite, grandes pazadas de terra eram atiradas rapidamente para cima daqueles gemidos de aflição, que não demoravam muito tempo a extinguir-se. Aqueles breves minutos de resistência pareciam uma eternidade. Depois punha-se uma grande pedra sobre o buraco, deitava-se-lhe água por cima, prendia-se a mãe alguns dias, fazia-se de conta que não se ouviam os seus uivos lancinantes e ponto final, nunca mais se falava nisso porque ninguém tinha gosto de se gabar daquela acção. - Toninho, Toninho - gritei -, vem tomar conta da Rosa, que já está cheia de sono. Quando a noite baixava sobre Montepó, Rosa não conseguia aguentar o sono. Aninhava-se na preguiceira, em cima de um casaco velho de meu pai, e dormia profundamente até ao amanhecer do dia seguinte. Mesmo que batêssemos com muita força os testos de duas panelas, imitando os pratos duma banda de música, ela não era capaz de abrir os olhos. Mas era a primeira a acordar. Por causa da minha irmã é que eu vim mais cedo para casa. A Rosa precisava de comer os feijões antes de adormecer. - Toninho, Toninho! Queres que eu vá aí? - O Farrusco não vem para casa! - respondeu meu irmão. - Deixa o cão em paz e vem ajudar-me! Sem muitas pressas, o Toninho apareceu e eu mandei-o pegar no abanador para espevitar o lume da lareira, a ver se os feijões coziam mais depressa. - A mãe nunca mais vem! - disse o Toninho, cansado de abanar. Não respondi. Mas também estranhei. com a noite já posta, minha mãe já tivera tempo mais que suficiente para ceifar, enfeixar e levar a erva para a manjedoira das vacas e de dois vitelos que ainda mamavam. Meu pai não estava em casa. Tinha ido ganhar o dia para casa do Paulino, um velho rabugento. Baixinho e gorducho, de poucas falas e mau como as cobras, o Paulino vivia sozinho ao fundo de Montepó. Perto de casa tinha quatro castanheiros que, em finais de Outubro, abriam os ouriços para deixarem cair no chão castanhas muito grandes, muito perfeitas. Paulino passava o seu tempo a vigiá-las, dia e noite, com um sacho a servir de arma de arremesso. Embora arriscado, sabia bem conseguir encher os bolsos de castanhas nas barbas do velho. O meu irmão tinha mais jeito do que eu para isso. A Rosa podia colher quantas lhe apetecessem, que ele não dizia nada, o que nos enfurecia. Nunca gostei dele, e quando era mais pequenito tinha medo que me metesse dentro de uma caixa cheia de castanhas. Não sei por que razão me imaginava dentro duma caixa escura a comer castanhas dia e noite, como se fosse um rato. Na escola primária faziam-se comentários estranhíssimos sobre aquele velho que tinha os olhos muito vermelhos, cheirava mal e só mandava cortar a barba de quinze em quinze dias. Havia quem jurasse que ele adorava comer caldo de cobras e deliciava-se com ratazanas assadas nas brasas, depois de lhes tirar a pele e a cabeça. O velho Paulino tinha duas ferraduras velhas pregadas no cancelo que dava para a sua casa defendida por duas cadelas velhas, pretas e magras e pouco dadas a ladrar a quem passava. Mas eram muito boas para o ajudar a caçar coelhos. Às vezes caçava tantos que, ao anoitecer, mal se podia arrastar com todos aqueles bichos presos à cintura, de olhos revirados e a gotejar sangue pelo focinho. Com as cadelas às voltas dos coelhos retesados, mordiscando-lhes as orelhas encostadas às calças ensanguentadas, o velho Paulino percorria Montepó de ponta a ponta, e deixava um coelho em quatro ou cinco casas, incluindo a nossa. O Paulino sabia que o meu pai gostava muito de coelho bravio e que a minha mãe o sabia temperar e cozinhar muito bem. Até o Farrusco lucrava com a dádiva: banqueteava-se com a pele, com as vísceras e com a cabeça. Enquanto chupava os ossos, meu pai fazia-nos sentir culpados por não ter espingarda nem tempo para ir caçar. - Se não houvesse nesta casa tantas barrigas para encher também eu havia de me regalar. Não é para me gabar, mas tenho boa pontaria. Quando era pequeno e andava no monte com o gado, conseguia mandar pedradas certeiras aos coelhos. Os bichos davam um salto no ar e caíam redondos no chão. Minha mãe, farta de ouvir a conversa tantas vezes repetida, respondia: - Se calhar, eram coelhos tinhosos... Nós ríamo-nos. Meu pai não respondia e ficava calado a refeição inteira.
A noite tinha descido sobre Montepó. Minha mãe tardava a aparecer e a Rosa, com as pernas cobertas pelo casaco velho que havia na preguiceira, cabeceava, tonta de sono. O Toninho enfiava pinhas a arder à volta da panela de ferro que já tinha a água a ferver em cachão, e com o garfo punha-se a pescar feijões para os provar. Era uma operação delicada, feita com mil cautelas para não queimar a boca. Cozer feijões numa panela de ferro, como toda a gente sabe, demora o seu tempo. Não é a mesma coisa que cozer cebolas ou nabiças. Para ficarem bem cozidos, os feijões precisam de lamber muito tempo e muito lume. Com a porta trancada por exigência da minha irmã Rosa, que tinha medo de que os ciganos lá entrassem, e tanto fumo negro e amargo a tomar conta da cozinha, o ar de repente tornou-se irrespirável. -Não aguento mais, Toninho! - disse eu, correndo a destrancar a porta. Respirei o ar frio da noite e assustei-me imenso. A minha frente havia dois olhos muito abertos que me miravam atentamente. O Toninho soltou um pequeno grito e depois perguntou, desaforadamente: - Que é que tu queres? Que é que estás aqui a fazer? - A minha mãe... - Xô, xô, daqui para fora, ouviste? Xô, xô! À nossa frente estava uma rapariguita descalça, de saias compridas, nada amedrontada com as palavras do Toninho. - A minha mãe já não tem adubo para o caldo. Dá-me um bocado de carne gorda. Tive pena da rapariga. O rapaz que tinha falado comigo na fonte estava especado no meio do caminho, sem abrir a boca. Fiz de conta que ele não existia nem que sabia que ele se chamava Irineu. - A minha mãe não está cá! - disse eu. - Dá-me a carne gorda. Dá, dá-me a carne gorda! - Não posso, a minha mãe não está cá. - Dá-me a carne gorda. Dá, dá-me a carne gorda! - Só estou aqui eu e os meus irmãos. E nós não temos carne gorda em casa - menti com pouca convicção. - Dá-me a carne gorda. Dá, dá-me a carne gorda! - Tu não ouves o que eu digo?! - Não tenho! - Dá-me a carne gorda. Dá, dá-me a carne gorda! Sem saber o que mais dizer, já com a Rosa bem desperta, agarrada às minhas pernas, tremendo com frio e medo, disse ao Toninho para ir à salgadeira cortar um bocado de unto de porco. Meu irmão trouxe uma fatiazinha, amarelada e rançosa, quase da espessura de uma hóstia, e entregou-lha com muita delicadeza. - Quando a minha mãe estiver aqui, podeis falar com ela. Isto é só para te desenrascar e é dado de boamente - disse o Toninho, que desde muito cedo aprendeu sozinho a arte do negócio, que tem sempre muito teatro e conversa fiada. - Tão pouquinho... Mãos de fome! - É o que há. O resto está todo podre, já nem o cão o come. A rapariga foi-se embora e nem sequer disse obrigado, ou bem-haja. - Onde é que a mãe se meteu? - perguntei. - Tenho sono - disse a Rosa. - Os feijões já se podem comer - avisou o Toninho, de garfo em riste, coradíssimo. com a concha da sopa tirei da panela feijões suficientes para encher o prato da Rosa. Um prato esbotenado, cheio de vasos e pequeníssimas flores azuis. Descasquei uma cebola e parti em pedacinhos um quarto dela para o prato da minha irmã, chorando desalmadamente. Nunca percebemos por que é que as cebolas do nosso quintal, sempre tão bem estrumadas, sempre tão bem regadas, sempre enormes e suculentas, eram sempre tão impiedosas para os olhos. Polvilhei com sal e pus bastante vinagre tinto no prato das florzinhas. Misturei os bocadinhos de cebola fria com os feijões fumegantes e reguei tudo com um fiozinho de azeite. Muito pouco, porque o azeite era tão caro que a minha mãe comprava apenas meio litro de cada vez ao Pedro Pirata. Pedro Pirata passava por Montepó na primeira e última semana de cada mês. Chovesse ou fizesse sol, aparecia todas as quartas-feiras, logo depois de o sino ter batido doze badaladas. Trazia com ele um cão enorme, ronceirão, com o pêlo chamuscado no rabo e na barriga. Também trazia uma égua carregada com duas caixas e duas grandes latas de folha de zinco, uma de cada lado do lombo. Essas latas tinham torneirinhas amarelas. Uma deixava correr azeite, a outra largava petróleo. Na caixa mais pequena havia rijas barras de sabão. A maior, forrada com palha muito moída, servia para lá meter ovos. Em Montepó, Pedro Pirata raramente tocava em dinheiro. O sabão, o azeite e o petróleo eram trocados por dúzias de ovos. Era um negócio de mulheres. Pedro era o seu nome de baptismo; Pirata, o que ganhou mais tarde. Contava minha mãe que uma bomba dum foguete lhe estoirara um olho, era ele rapazola destemido e farsante. Logo que pôde, Pedro começou a usar uma pala de couro para tapar um horrendo buraco redondo que causava repugnância e compaixão a quem o via pela primeira vez. Começaram, em tom de brincadeira, a chamar-lhe Pirata por causa da pala negra. E assim nasceu um novo apelido, que fez esquecer o que os pais mandaram escrever no registo civil. - Também já comia - disse o Toninho. - Não. Será melhor esperarmos pela mãe. - Tenho tanta fome que até me dói a barriga. A Rosa, com os olhos a quererem fechar-se, ia metendo os feijões na boca com muito custo. Ainda nem o prato estava a meio, adormeceu. Descalçámos-lhe as chancas e as meias e deitámo-la na cama. O Farrusco entrou na cozinha. - Um dia tu vais ver o que te acontece - ameaçou o Toninho. Farrusco lambeu-lhe as mãos e foi deitar-se junto da lareira. - Bilo, o que é que aconteceu à nossa mãe? - Deve estar a conversar com a tia Olinda. Sabes como é a tia Olinda: quando começa a conversar, nunca mais se cala. - Mas já é noite há muito tempo, não se vê nada. O pai, também... - Pois é, Toninho. Pois é. Que é que se há-de fazer?
Alto, entroncado, com olhos azuis, um bigodinho aparado todos os sábados e mãos repletas de calos, quase sempre de rosto carregado, meu pai deixou de ser o meu grande herói num domingo à noite, estava minha mãe a tirar a sopa da panela. Eu tinha onze anos quando isso aconteceu. Foi num dia de Inverno, num daqueles dias que aparecem embrulhados em nevoeiro espesso, tão frios que enregelam os dedos e a ponta do nariz. Meu pai entrou na cozinha aos encontrões à porta. Cambaleante e com os olhos avermelhados, desatou a gritar com todos nós. Não se percebia muito bem o que queria dizer com aquela voz entaramelada. O Toninho começou a rir, com as mãos a tapar a boca. Mas a vontade de galhofar desapareceu num instante. Meu pai pontapeou a cabeça do Farrusco, que fugiu a ganir. Deu um pontapé na panela da sopa, que se espalhou pela cozinha. Deu um estalo à Rosa, gritando-lhe que não admitia choros. Que ela só podia chorar quando ele quisesse. Deu um pontapé na porta e, depois de a trancar, pegou num pau e começou a bater com ele na minha mãe. - Ó pai, ó pai, não faça isso!... Ó pai!... - gritava e voltava a gritar meu irmão Toninho. Não consegui abrir a boca, nem arranjar forças para me mexer. Os gritos de minha mãe despedaçavam-me a lucidez. - Pára, Miguel! Olha as crianças, Miguel. Por amor de Deus, pára! - Diz-me a verdade, sua besta, ou mato-te aqui à pancada! - gritava meu pai, depois de ter desfeito em cacos as malgas onde íamos comer. - Pára, Miguel! Olha as crianças, Miguel. Por amor de Deus, Miguel, deixa-me em paz... As pancadas ecoavam na cozinha com a porta fechada, e ele gritava que queria saber toda a verdade. Perguntei-lhe que verdade é que ele queria saber. Respondeu-me com uma paulada que me acertou num ombro. Doeu-me muito e eu não pude conter um grito. Minha mãe fugia à roda da cozinha, gritando baixinho. - Diz-me a verdade, sua besta, ou mato-te aqui à pancada! Minha mãe chorava baixinho, implorava clemência. Punha as mãos à frente da cara, junto do peito, em cima dos ombros. - Diz-me a verdade, sua besta, ou mato-te aqui à pancada! De repente, ela pegou no regador e jogou-lhe a água que o enchia contra a cara. Atordoado, meu pai caiu no chão e não foi capaz de ter forças para se levantar. - És um bêbado, Miguel. Metes-me nojo! És um desgraçado, Miguel! - gritou minha mãe. Ela abriu a porta e saiu da cozinha com o regador na mão. A água apagou o fogo, as brasas chiaram como cobras assustadas e largaram novelos de fumo. O fumo pôs-nos a tossir. Fugimos da cozinha com mil cuidados para não mexer em meu pai, que continuava deitado no chão molhado da cozinha. Comecei a imitar o arrulhar dos pombos bravos, que gostam de fazer os ninhos no cocuruto das árvores mais altas. Aquele gemido dos pombos era um sinal. Minha mãe sabia que era eu a perguntar onde é que estava. Ela respondeu-me, assobiando. Era um silvo prolongado, pouco intenso, três vezes repetido. Fomos ter com ela à fonte. E ela mandou-nos beber água e lavar a cara. - Ele não gosta de nós, pois não, mãe? - perguntou o Toninho. Aquela pergunta era também uma resposta. - Ele gosta dos filhos; o vinho e as más companhias é que o desgraçam. - E ele há-de ser sempre assim, mãe? - Não sei, filhos. Pode ser que mude... - E se não mudar, mãe? - Então mudo eu. Ninguém perguntou mais nada. Voltámos para casa às apalpadelas, tal era o negrume da noite. Meu pai, quando entrava em casa a cair de bêbado, com a cara vermelha, a gaguejar e com os olhos piscos, transformava-se numa outra pessoa. Uma pessoa pavorosa que nós detestávamos, que nos metia medo e nos fazia sofrer. Ele chamava nomes indecentes à minha mãe, palavrões horrorosos que ela nos proibia de pronunciar. Ele repetia até à exaustão que ela tinha um amante. Minha mãe ficava destroçada. Dizia-nos que preferia mil vezes ser espancada a ter que ouvir aquela acusação. Não sei se meu pai espancou minha mãe mil vezes sem que nós nos apercebêssemos. Não sei em que altura começou aquela violência que tanto nos afligia, tanto nos angustiava, tanto nos intimidava.
Em Montepó, só a Glorinha é que tinha um amante. A Glorinha, mais velha que a minha mãe, vivia no extremo de Montepó, junto do cemitério. Toda a gente sabia que o amante da Glorinha era o senhor Saul. O senhor Saul andava sempre de fato azul com riscas brancas, camisa branquíssima e gravata preta. O senhor Saul andava sempre com a cara escanhoada. Era uma cara vermelha, que fazia lembrar a pele do pescoço de um galo velho. Calçava sapatos pretos. Sapatos tão lustrosos que podiam fazer a vez de espelhos. O senhor Saul cuidava muito bem dos sapatos. Quando os sujava, escondia-se e tirava do bolso um lenço para os limpar com cuidado. O senhor Saul era viúvo. Tinha duas filhas que não lhe falavam por ele ir visitar a Glorinha duas vezes por semana. Um dia, ao fim da missa de domingo, até andaram as três engalfinhadas no meio do adro, a bater, a berrar, a gritar, a dar estalos e a puxar cabelos. - Uma vergonha! - dizia minha mãe. - Ali no meio do adro, à frente de toda a gente... Que chacota e que vergonha. Uma mulher, para ser respeitada, nunca deve perder o tino. Queria ela dizer que as mulheres não podiam expor-se daquela maneira para não perderem a dignidade. A medo, entrámos na cozinha e encontrámo-la deserta. Para nos matar a fome, minha mãe voltou a acender o lume e cozinhou no azeite fervente da sertã um pastelão com muitos ovos, muita salsa e cebolas picadinhas, broa migada e umas pedrinhas de sal. - Está bom, mãe! Prove só um bocadinho. Olhe que amarelinho! < - Não tenho fome, comei vós, meus ricos meninos. Comei, que bem precisais de crescer. - Se eu mandasse, proibia o vinho nas tascas - disse o meu irmão. - E de que adiantava, meu filho?! Se não há vinho, há aguardente, se não houver aguardente, há cerveja, se não houver cerveja, há-de aparecer sempre qualquer mistela que sempre embebedou e continuará a embebedar os homens. E depois é vê-los nessa triste figura, a urinar pelas pernas abaixo, mais porcos que os cães, e a encharcar as calças, como se fossem meninos de colo. No dia seguinte, meu pai levantou-se antes de amanhecer. Minha mãe, com a testa inchada e um olho que mal abria, informou-nos que ele tinha ido cortar mato. Deixou recado para eu ir ter com ele, mal acordássemos. Meu irmão e eu bebemos a malga de cevada muito doce com broa migada. Saímos de casa, mas seguimos caminhos diferentes. O Toninho foi para a escola com a saca dos livros às costas. Era uma saca que minha mãe tinha feito com um pano cinzento. Eu levava uma enxada e um cutelo. - Quem me dera ir contigo... - disse o Toninho. Meu irmão detestava a escola. Ele tinha medo ao professor Arlindo, que era um monte de banhas, fumava imenso, tinha mãos papudas e batia sem dó nem piedade nos desgraçados dos moços que não conseguiam fazer as contas de dividir, os problemas, e davam erros ortográficos nas redacções e nos ditados. Mas ensinava bem. Nunca nenhum dos seus alunos reprovara no exame. O Toninho dizia que havia de se vingar mais tarde. Quando o professor Arlindo morresse, não punha os pés no funeral. Ninguém havia de ir enterrar um ser tão horrendo. Eu ria-me: - Vai depressa, senão ainda chegas atrasado. Depois não te queixes... - Morto fosse quem inventou a escola! Quando cheguei à bouça, deixei que o Farrusco me lambesse as mãos, feliz, com a cauda a abanar. - Achas que são horas de chegar ao trabalho? Olha o mato que já cortei! - disse meu pai, limpando o suor da testa. - Ainda estive a ajudar a mãe - menti. Pus-me ao lado de meu pai e comecei a cortar urzes e tojeiros com a enxada, e a cortar os ramos dos carvalhos e giestas com o cutelo de gume bem afiado. Meu pai não falou comigo, não me disse nada. De vez em quando parava de trabalhar e ia ajoelhar-se à beira do ribeirinho que ali passava. Fazia uma concha com as duas mãos e bebia daquela água muito fria. Tão gelada que até fazia doer os dentes. A meio da manhã, meu pai pegou no saquito pendurado no galho de uma giesta e sentou-se no chão atapetado de caruma e musgo. O saco era de pano aos quadradinhos azuis. Fizera-o minha mãe com os restos de uma toalha. Encostados a um carvalho enorme, comemos em silêncio broa e azeitonas e partilhámos o vinho tinto que enchia uma cabaça. A cabaça tinha muitos anos, estava escurecida e fazia lembrar o sino grande da igreja. Sabe bem beber por uma cabaça, seja que líquido for. De resto, é muito fácil criá-las. Basta enterrar sementes num bocado de chão bem estrumado e esperar pacientemente que elas nasçam e frutifiquem. E que algumas nos surpreendam com formas extravagantes. Quando eu era mais criança, imaginava o tamanho descomunal da cabaça onde se enfiou a velha que vem do casamento e diz que não viu velha nem velhão, corre-corre, cabacinha, corre-corre, cabação. Sonhava ter uma igual. Houve um ano em que de Maio a Setembro me fartei de alombar com cestos e cestos cheios de esterco que ia arrancar ao galinheiro. - Que andas a fazer, meu filho? - perguntava minha mãe, admirada com o meu labor. - O Bilo vai fazer uma cabaça para irmos aos casamentos! - respondia o Toninho, empolgadíssimo. - Boa ideia. Se calhar, eu também vou - dizia a minha mãe, com ar muito sério. Eu gostava de ouvir aquelas palavras. Como seria bom ter uma cabaça que nos levasse de Montepó para terras estranhas, cheias de mistérios! - Mas sou eu a guiar - dizia eu. - Como é que vamos arranjar roupa? - Levamos a que temos, Toninho. - Eu antes queria roupa de príncipe. - Tu sabes como é a roupa de príncipe? - Sei. Deve ser muito bonita. - Os príncipes, Toninho, andavam com saias muito curtinhas e com as ceroulas à mostra. Também queres andar assim? - Pois quero. Tem algum mal? - Se eles vivessem aqui, eu gostava de os ver nos dias de frio... - Os príncipes são diferentes de nós. Não têm frio, só comem coisas finas e têm muitos criados. - Quem é que disse isso? - Foi a tia Olinda. Ela também gostava de ser princesa. - Depois casava-se com um príncipe mais alto do que ela. - Bilo, o que são coisas finas? Já comeste disso? - Rebuçados, amêndoas, chocolates, anis, biscoitos, sardinhas de conserva e vinho fino, muito docinho, são coisas finas. - Pois é... E como se chamam os filhos dos príncipes? - Principiantes. - Não pode ser esse nome. - Pergunta lá na escola. - Para quê? Para toda a gente se rir de mim?! - São principiantes e acabou-se a conversa! Nesse ano, o tempo foi ruim para as abóboras. Um ano seco, quente e ventoso como nunca se tinha visto. A água desapareceu dos regatos, das nascentes, dos poços e das minas. As cabaças que se formaram não eram maiores que o punho de uma mão. Raquíticas, torcidas e amarelecidas, definharam de vez. Antes que apodrecessem, minha mãe colheu-as, partiu-as e deitou-as na pia do porco, fazendo de conta que não ouvia os soluços sufocados do Toninho.
Quando se espera, parece que o tempo passa muito devagar. O Toninho passava a vida a espreitar para a rua e perguntava, depois de só ter visto a escuridão: - Bilo, o que é que aconteceu à nossa mãe? Eu dava sempre a mesma resposta: - Deve estar a conversar com a tia Olinda. - Mas já é noite há muito tempo... E o pai nunca mais vem. Farto de esperar, o Toninho queria que começássemos a comer os feijões. - Não. Esperamos pela mãe. Aguenta mais um bocado, Toninho. Aguenta. - Mas eu tenho fome... - Espera, que eu também espero, e não me queixo - respondi, sentindo o estômago vazio. Naquele tempo, em nossa casa só havia um relógio. Era um despertador azul, com duas campainhas. Estava poisado em cima dum armário. Mas, como fazia muito barulho, meu pai raramente lhe dava corda. - Não é preciso estarmos a aturar o tic-tic-tic-toc do relógio! O sino da torre dá as horas, e já chega! - dizia meu pai, que se gabava de dormir pouco e ter um sono leve. Eu ainda não tinha relógio. Estava à espera que o meu padrinho mo oferecesse. O meu padrinho era irmão de minha mãe, vivia em Lisboa e mudava de emprego com a mesma facilidade com que se muda de peúgas. Apesar de ser mais velho que a minha mãe, o meu padrinho Sebastião continuava solteiro. Costumava vir a Montepó três vezes por ano: no Natal, na Páscoa e no Verão. Ficava em casa de meu avô, deitava-se de madrugada e levantava-se a meio da tarde. Eu gostava muito do meu padrinho Sebastião porque me dava rebuçados e, sobretudo, contava muitas histórias verdadeiras passadas com ele, lá em Lisboa. A minha mãe ouvia, ria-se e costumava dizer: - Este rapaz dava para escritor. Inventa cada peta. E ele, fingindo-se muito ofendido: - Se não acreditas, podes ir lá perguntar, Amelinha! - Hei-de ir lá quando a semana tiver nove dias. Conheço-te melhor do que pensas, menino! O meu padrinho Sebastião nunca gostou de trabalhar na terra. Quem nos contava isto era minha mãe, nas noites frias e intermináveis dos meses de Inverno, ou quando andávamos a trabalhar nos campos. Sebastião não quis ser barbeiro, nem carpinteiro, nem trolha, nem pedreiro. Meu avô não compreendia aquele filho, nascido duas horas antes de minha avó morrer. Ele pensava que os filhos de Montepó deviam trabalhar na terra até ao fim da vida. Ou então que aprendessem um ofício que lhes desse o sustento de cada dia. Meu avô não compreendia porque é que os rapazes sonhavam largar de vez aquele buraco encravado entre as serras, cercado por bouças e penhascos. - Se temos pão, batatas, carninha do porco, leite, azeitonas, castanhas, boa água e bom ar e as verduras do quintal, de que é que precisamos mais? Só os tolos é que saem de Montepó! Eu penso assim, mas estarei enganado, estarei... Mas uma vontade, ninguém ma tira. Eu quero que esta terra me coma os ossos, não quero ir para mais lado nenhum. E não quero que me levem para o cemitério na carreta. Toda a gente sabe que eu enjoo em cima de rodas. Meu padrinho não tinha a mesma opinião. com quinze anos, fugiu de casa. Antes de deixar Montepó, teve o cuidado de escrever algumas palavras num papel que deixara espetado na porta do quarto de minha mãe. Brevíssimas palavras. Minha mãe decorara-as: ”Pai e Amélia, vou conhecer o mundo. Escrevo assim que puder. Um abraço do Sebastião” - Se o apanhasse aqui neste momento, eu era bem capaz de fazer uma asneira - dissera meu avô, fingindo não ficar preocupado com a saída do filho. - Então o franganote vai-se embora sem ter uma palavra com o pai? Este rapaz só veio ao mundo para me desgraçar. Se não fosse ele, eu ainda tinha mulher. Dei-lhe tanto mimo e agora tenho a paga. Este rapaz é a minha cruz.
O padrinho Sebastião, contava-nos minha mãe, era da família dos bichos do mato. Sempre teve o comportamento dum lobo solitário, duma raposa astuta, duma lebre esquiva. Não deixava que nada o prendesse a qualquer cadeado. Sempre curioso e insatisfeito, Sebastião experimentara imensas profissões. Foi moço de recados e trolha, caixeiro, pintor, electricista, canalizador, mecânico de motorizadas, pasteleiro, cauteleiro e vendedor de jornais, engraxador e tipógrafo. Frequentava bibliotecas públicas e devorava livros. - É um regalo para os ouvidos ouvi-lo falar. Quando está a conversar, diz, sem querer, palavras que não entendo, mas que me parecem muito bonitas - dizia minha mãe, embevecida com o irmão que ajudara a criar. - Às vezes, eu pergunto-lhe o significado de certas palavras e ele pede desculpa e explica. Fala melhor que um padre pregador. Cem vezes melhor! No ano em que terminei a quarta classe, o meu padrinho deu-me um livro. Chamava-se Pinóquio. - Se o leres, aprendes a sonhar! - disse-me ele, com um sorriso cúmplice. - Obrigado - disse eu, abraçando-o, sem entender muito bem o que me queria dizer. Fiquei tão feliz. Era o meu primeiro livro. Era o primeiro livro de histórias que ia haver em minha casa. Era a primeira vez que recebia uma prenda que não se comia, calçava ou vestia. Agucei um lápis com a minha navalha de gume sempre bem afiado e escrevi na primeira página: “Este livro pertence a Abílio Ribeiro da Silva. Oferecido pelo meu padrinho.” Para que não ficasse sujo, nem com olhos de gordura, encapei-o com uma folha de jornal. As coisas nem sempre acontecem como desejamos. Temos de estar preparados para os pequeníssimos ou grandes desastres que nos batem à porta sem avisar. A vida é feita de risos e de lágrimas, de sonhos e desencantos. E quem disser o contrário é parvo, ou mentiroso. Ainda hoje me dói falar disto. Mas a verdade tem de ser dita: não li o livro oferecido pelo meu padrinho. Nem sequer a primeira página pude saborear. Numa tarde de chuva, meus irmãos resolveram arrancar algumas folhas do Pinóquio para acenderem uma fogueira. Como as folhas ardiam bem, arrancaram-nas todas. Confrontado com a tragédia, fiquei a olhar para os restos das folhas calcinadas que se tinham espalhado na lareira. Alguns pedacinhos, mais pequenos que a cabeça dum dedo mindinho, levantavam voo, subiam em direcção à chaminé e desapareciam. Explodi. Bati em mim próprio: na cabeça, no peito e na cara. Bati nos meus irmãos, subitamente amedrontados e perplexos. Berrei, arranquei cabelos aos meus irmãos e a mim próprio. Desesperado, gritei e protestei até me doer a garganta: - Haviam de ter nascido mortos. Eu não preciso de irmãos para nada! Os irmãos mais novos metem nojo! Preferia ter dois cães à minha beira! A Rosa e o Toninho começaram a choramingar, tristes por me verem tão triste. - Mas que conversa é essa, menino? - perguntou minha mãe, admirada. - Estes inocentes queimaram-me o livro que o meu padrinho me deu. Estes patetas queimaram-me o Pinóquio. - Quem é que queimaram? - O meu Pinóquio. - O teu Pinóquio? De que é que estás a falar, menino? Não te entendo... - O livro que o meu padrinho me deu chamava-se Pinóquio. E os estúpidos dos meus irmãos fizeram uma fogueira com o livro. - E estás a fazer esse escarcéu todo por causa dum livro?! Cala-te, menino, cala-te! - Mas eu quero o meu Pinóquio! - Cala a caixa, que é melhor para ti. O teu pai está aí a chegar. Meu filho, o que não tem remédio remediado está. Acabou a conversa. Olha que o teu pai está aí a chegar. Meu pai entrou na cozinha e eu emudeci. Recusei-me a jantar. Inventei uma dor de barriga, deitei-me cedo e adormeci a imaginar vários significados para a palavra Pinóquio.
O relógio era um velho sonho, uma promessa com mais de um ano. O meu padrinho prometera trazer-mo quando voltasse a Montepó. - De noite, os ponteiros e os algarismos reluzem como um pirilampo. Vais ficar bem servido! Tenho a certeza de que em Montepó e arrabaldes não há-de aparecer tão cedo um igual! Ter um relógio era uma forma de crescimento público. Em Montepó apenas se punha relógio no pulso para ir à missa, às feiras e funerais. Ou então para ir namorar. Nos bailes, um rapaz sem relógio fazia uma figura triste. As moças olhavam para ele de lado. Não ter relógio era sinal de não ter cheta nos bolsos. Era o que se dizia., e eu acreditava piamente. Nesse ano de mil novecentos e sessenta e cinco, Sebastião bateu-nos à porta no último dia do mês de Julho. Lembro-me dessa data, passados estes anos todos, porque o meu aniversário é a um de Agosto. Já tinha anoitecido há imenso tempo quando ele apareceu, anunciado pelos latidos do Farrusco. - Deixa-me ficar aqui, Amélia - disse ele. - Não vais para casa do pai? - Não posso. Não é seguro. - Não te entendo, menino. - Não te posso dizer mais nada. - Mas onde é que te vais deitar? - Posso ficar aqui na cozinha. Durmo na preguiceira. Perdi o sono. O meu padrinho estava metido numa grande aventura. O que teria feito para nem sequer se atrever a ir dormir a casa de meu avô? - Ó cunhado, olhe que eu não quero ser incomodado, veja lá! Tenho estes filhos para criar. - É meu irmão, Miguel. Tem dó! - Por favor, não discutam por minha causa. Eu durmo num palheiro, não há problema. Eu olhava para os bolsos do casaco do meu padrinho e esperava ansiosamente que ele de lá tirasse o relógio com ponteiros e algarismos a cintilar como um anafado pirilampo. - Já comeste, menino? - Já não como há dois dias. O que me deres é bem aceite. Minha mãe serviu-lhe batatas fritas, ovos estrelados com açúcar, azeitonas e pão. Meu padrinho e meu avô adoravam ovos estrelados com açúcar. Minha mãe mandou-nos ir dormir. Ela precisava de espaço para acomodar o irmão. Foi um bom pretexto para nos mandar embora. O que ela realmente queria era falar com o meu padrinho, sem que ninguém estivesse a ouvir. Fui-me deitar, profundamente desiludido com o irmão de minha mãe. Queria lá saber que estivesse em apuros, que se tivesse metido em aventuras, que nem sequer se atrevesse a ir bater à porta de seu pai! Queria lá saber que estivesse roto de fome! O que eu queria era o meu relógio com ponteiros e algarismos fosforescentes como pirilampos no negrume da noite. No dia seguinte, minha mãe informou-nos de que o tio Sebastião tinha deixado Montepó antes de amanhecer. - Afinal, o que é que ele veio cá fazer? - perguntei, magoado. - Veio falar comigo - respondeu minha mãe. - Por que é que não lhe dizes a verdade? disse meu pai, que não tinha grande consideração pelo meu padrinho. Dizia que ele era leviano e vagabundo. Às vezes, chamava-lhe poeta. Em Montepó, um poeta era um idealista, um fantasiador pouco dado a conviver com a realidade. - O padrinho matou alguém? - perguntei, a medo. - Achas que ele é capaz de matar, menino? Meu irmão pode ter muitos defeitos, mas o de fazer sangue não se lhe pode apontar. Ele nem uma cobra, que é o animal mais nojento que há à face da terra, era capaz de matar! - O teu padrinho anda a arranjar lenha para se queimar. Essa é que é a verdade. - Não fales, Miguel. Porque é que fazes isso? - O rapaz precisa de saber a verdade! Não vale a pena esconder que o teu irmão anda metido na política há muito tempo. As leituras deram-lhe volta ao miolo. Mais cedo ou mais tarde, a PIDE deita-lhe as unhas, prende-o e dá-lhe cabo do canastro. Ele anda fugido, mas não há-de ser por muito tempo. Espero bem que não venha a ser incomodado por causa desse poeta. Por que é que ele se mete em política? O que é que ele ganha com isso? A minha política é o trabalho, e ponto final. Um mês depois, encontrei minha mãe a chorar baixinho em casa de meu avô. Sebastião tinha sido apanhado pela polícia política e metido em Caxias, uma prisão da longínqua Lisboa, capital de Portugal ”continental, insular e ultramarino”, como se aprendia, nesse tempo, na escola primária. Nunca soube quem lhe trouxe a notícia de tão longe. O carteiro é que não foi porque nunca parava em frente de nossa casa. Meu padrinho estava preso sem ter agredido, roubado ou insultado. Ficara sem liberdade por não concordar com as ideias do governo e de lutar para que houvesse mais liberdade no seu país. Fiquei confuso, triste e preocupado. - Adeus, relógio! - pensei em voz alta. - Não o hei-de ver tão cedo. Só a tia Olinda é que se lembrou do meu aniversário. Ofereceu-me um par de meias de lã de ovelha feitas por ela. Disse ”Bem-haja, tia”, porque fui ensinado a dizer assim. Mas, para ser franco, detestei o presente. Para que é que eu queria um par de meias de lã nos dias quentes de Agosto?
- Vamos ver se a mãe está em casa da tia Olinda? - sugeriu meu irmão. - Vai lá tu. Eu fico aqui. - Vamos os dois. é melhor. - E a Rosa fica aqui sozinha? - Deixamos o cão dentro de casa, com a porta fechada. - E se ela acorda?! - Ela só acorda amanhã de manhã. O Farrusco ficou enroscado junto da lareira a dormitar. A noite estava muito negra, fria e silenciosa. Tão sossegada que conseguíamos ouvir as folhas das árvores a cair no chão, o sussurro ininterrupto da água da fonte e os latidos dos cães das terras distantes de Montepó. Meu irmão e eu caminhávamos devagarinho, tacteando o caminho por entre o negrume, arrependidos por não levarmos connosco um lampião aceso. - Se tivesse aqui uma caçadeira, dava-lhe um tiro e acabava-lhe já com a raça. Nojenta, vai para a tua terra, desaparece! - enervou-se o Toninho, farto de ouvir os gritos estridentes duma coruja que parecia seguir-nos, de galho em galho, de cume em cume. Em Montepó as corujas não tinham boa fama. Quando soltavam para a escuridão da noite gritos estridentes, dizia-se que notícia ruim estava para chegar. O mais certo era a morte que estava a caminho de Montepó. Dizia-se que as corujas eram filhas do Diabo, cheiravam a enxofre queimado, comiam os olhos às crianças de colo e bebiam o azeite das igrejas e dos cemitérios. O mais estranho era nunca aparecerem mortas nem haver um único caçador disposto a tirar-lhes o pio. Dizia-se em Montepó que as corujas eram bichos agourentos e só as bruxas é que os entendiam. A coruja ia-nos seguindo, indiferente às ameaças assustadas do meu medroso irmão que olhava para a negrura do céu, tentando localizá-la. A meio do caminho tropeçou numa pedra, caiu e picou-se nos tojeiros secos amontoados à porta dum curral. Em nenhuma casa enxergámos um fiozinho de luz. Os filhos de Montepó estavam deitados nas suas camas com colchões de palha. Dormiam, rezavam, falavam, sussurravam, ressonavam. Não havia luz em casa da tia Olinda. Quando me preparava para a chamar, um gato escapuliu-se pelo buraco que havia na porta da cozinha. Assustei-me com o grito do meu irmão. - Cala-te, Toninho. Até um gato te mete medo. Não sei o que vai ser de ti quando fores para a tropa. Vais andar sempre borrado e a feder. Meu irmão fez de conta que não ouviu. - Se a mãe não está aqui, então onde é que está? - perguntou meu irmão. Fiquei calado, sem saber dar uma resposta concreta ao Toninho, irritado com o piar da coruja. - E o pai? - insistiu o meu irmão, muito colado a mim. - Deve estar em casa do Paulino ou então no tasco do Renato. - Vamos ter com ele. - Para quê? Para ficares com o coiro a arder? Eu não vou; se quiseres, vai tu à procura dele. - Tu não gostas do pai, pois não? - Gosto. Claro que gosto. Só não gosto que ele bata na mãe. Quando eu me casar, nunca hei-de bater na minha mulher. - Ele só bate na mãe quando está borracho. - Ás vezes trata-a mal na frente das pessoas. Ela fica envergonhada e eu também. Não gosto nada de ver a nossa mãe a chorar. Sinto uma coisa esquisita dentro do peito, que nem sei explicar. É mais do que raiva... E tu também já gostas de beber, Toninho! - Eu? Que grande mentira! Eu? - Ai não!... Noutro dia bebeste meia garrafa de vinho antes do almoço. - Está bem, mas era vinho com açúcar. Fiz umas sopinhas de vinho. Isso não é borracheira. Eu sentia-me muito fraquito. O avô também come sopas de vinho com ovo e canela. - Estou farto de borrachões, Toninho! Já chega ser filho de um bêbado. Põe-te fino, Toninho! Põe-te fino, menino! Eu tenho muita vergonha de ver o pai a fazer aquelas figuras tão tristes. E revolta-me ver as pessoas a rir e a dizer piadas quando ele cai ao chão e não consegue levantar-se. Fico envergonhado quando ele fala sem saber o que diz, como se fosse o Tolinho do Rio. - Mas é o nosso pai - disse o Toninho, conformado. - Tens razão. Mas é o nosso pai...
O Tolinho do Rio vivia sozinho num casebre, perto duma ponte. Tinha uma barba muito comprida, desgrenhada e suja. Ninguém podia estar junto dele porque o corpo e roupa tresandavam a bafio e a imundície. Fumava muito. Fumava cigarros de barba de milho o ano inteiro porque não tinha dinheiro para tabaco. O hálito dele, como dizia o meu avô, fazia cair para o lado o homem mais forte do mundo. O Tolinho do Rio, ou Gabriel, seu verdadeiro nome, já era velho há muitos anos. Não tinha família e corria os cães e os gatos à pedrada e raramente falhava a pontaria. Levantava-se muito cedo, deitava-se antes de escurecer e passava a maior parte dos dias sentado na margem do rio, junto de uma fileira de majestosos amieiros. Como era um experimentado pescador, ia tirando das águas claras do rio trutas pintalgadas e belíssimas, que comia, depois de as fritar em banha de porco. Quando lhe apetecia, levantava-se antes da madrugada e ia para a serra surpreender os coelhos ruminando nas suas tocas. Matava-os com uma pancada certeira e violenta duma moca de carvalho. Quando não tinha comida, aparecia em Montepó e estendia a mão à caridade. Davam-lhe batatas, milho, bocados de toucinho gordo, pedaços de pão ressesso, sal e ovos. Caminhava pelas ruas de Montepó com aquela barba muito comprida, negra e emporcalhada. Derreado, com um pau na mão, o outro a segurar o saco de serapilheira onde metia as esmolas, o Tolinho do Rio metia medo às crianças mais pequenas. Se não fosse o Tolinho do Rio muitas vezes a minha irmã Rosa teria desistido de comer a sopa. - Se não comeres, vou dizer ao Tolinho do Rio para vir buscar-te amanhã. Era normal o Tolinho do Rio ser o mau de Montepó para os mais pequenos até eles crescerem. O único acto em que era alvo da galhofa dos rapazes e irritação das mulheres e dos mais idosos, que corriam a atirar-lhe baldes de água, e atiçavam-lhe os cães, acontecia poucas vezes no ano. Nas tardes mais quentes de Verão, ele aparecia descalço, a rir, com os olhos muito abertos. No corpo trazia uma camisola interior muito negra e esburacada, que lhe dava até ao umbigo. A pele, da cor da farinha, cobria um esqueleto com um sexo descomunal. - Vai-te vestir, Gabriel! Olha que tenho aqui uma faca que te capa num minuto! - gritava o sapateiro, com a sua voz esganiçada, mostrando a faca de cortar as solas. - Vai-te vestir, Gabriel! Vai esconder essas peles que trazes aí ao dependuro... - dizia minha tia Olinda, muito divertida. - Vai-te vestir, Gabriel! Vai, meu filho, olha que já estou a ver um enxame de besouros a vir pelos ares... bzzzzz... bzzzzz... - gritava minha mãe, muito séria e bastante incomodada pelas crianças de Montepó terem visto o corpo seminu dum adulto. O Tolinho do Rio tinha horror a abelhas e besouros. Quando ouvia falar neles, abaixava-se, apanhava punhados de terra e desatava a correr. Corria como um cabrito desorientado pelos caminhos de Montepó, acossado pelos latidos espantados dos cães e o chinfrim das galinhas amedrontadas que deixavam abruptamente de picar e esgaravatar demoradamente no meio da rua. - Os besouros estão pertinho, Gabriel, estão muito pertinho.... bzzzzz...bzzzzz... - gritavam, divertidas e envergonhadas, as gentes de Montepó a plenos pulmões até ele desaparecer. O cheiro esquisito do Tolinho do Rio ficava no ar e demorava ainda algum tempo a desaparecer.
A coruja não desistia de nos seguir. Dava-nos a impressão que a qualquer momento ia bicar as boinas pretas que levávamos na cabeça. - Maldita! - gritava o Toninho, pegando em pedrinhas do chão que atirava para o local de onde vinha o ruído. Mas o meu irmão não tinha a pontaria do Gabriel. No meio da escuridão ouviu-se um estilhaçar de vidros. Uma pedrada acertou em cheio na vidraça da janela do quarto onde dormia a Ana Teresa. A Ana Teresa tinha brincado muito comigo, quando éramos crianças, e íamos juntos para a escola. Ela andava sempre com a cabeça tapada. Usava chapéu de palha com flores nos dias de Primavera e Verão e um carapuço castanho nos dias de frio para não constipar os ouvidos. No tempo em que tudo isto vos conto, as meninas não se misturavam com os meninos na mesma sala de aulas. Os rapazes iam penar nas mãos papudas do professor Arlindo e as meninas cantavam a tabuada e faziam jogos com a D. Maria Eugénia. O Professor Arlindo só nos ensinava a cantar o Hino Nacional e não se metia nos nossos jogos. Pouco tempo depois de sair da escola, a Ana Teresa começou a ficar diferente. Cortou o cabelo, que era ruivo como não havia outro em Montepó, e as sardas semeadas no rosto puseram-na linda. As camisolas muito cingidas moldavam-lhe o peito cada vez mais saliente e belo. Ana Teresa deixou de falar comigo. Ou melhor, já não falava comigo, já não brincava comigo. Punha perfume de violetas quando ia à missa. Pertencia ao coro da igreja, fazia a leitura das epístolas nas missas, comungava de mãos postas como uma santa, e era catequista. Estava sempre em casa, ou no pátio, junto dos vasos de sardinheiras, a fazer renda ou a bordar lenços, toalhas e lençóis de linho. As suas mestras eram a mãe e a avó. Tinha dedos finos, mãos alvíssimas, e às vezes as unhas pintadas de vermelho. Quando os pais se ausentavam, Ana Teresa ficava a tomar conta da venda, a única de Montepó. Sempre que podia, eu passava por lá só para a contemplar. Mas ela não era nada simpática comigo. - Que queres? Eu ficava sem fala. - Que queres? Ou já te esqueceste do que vinhas buscar, como os moços pequenos?! Eu pensava: Como tu estás bonita, Ana Teresa. E se te dissesse que tenho sonhado contigo, que responderias, Ana Teresa? Quando estás a ler na igreja eu não consigo prestar atenção ao que dizes, Ana Teresa. Ponho-me a olhar para ti e sinto um zumbir esquisito nos ouvidos. Por que será, Ana Teresa? - Dá-me uma caixa de fósforos. - Já fumas? - dizia, fingindo-se espantada. Ela fazia aquela pergunta para me humilhar. - Não fumo, nem acho graça. Os fósforos são para casa. - Andam a gastar-se muitos fósforos em tua casa, Abílio... Compreendia muito bem que não era isso que ela pensava. com aquele sorriso travesso, ela queria dizer-me que já tinha percebido há muito tempo que eu gostava dela. Mas que não tinha coragem para lho dizer. Fazia de conta que não sabia onde estava a moeda para pagar os fósforos, vasculhava nos bolsos das calças. Fingia preocupação. - Pensava que tinha metido o dinheiro no bolso e afinal deixei-o em casa. - Queres que ponha no livro? - Pode ser... A minha mãe nem sempre tinha dinheiro para comprar o arroz e a massa, o sabão e o bacalhau. Comprava e pedia para ”pôr no livro dos fiados”. Um livro de capa preta, comprido e estreito, com folhas pautadas onde os donos da venda apontavam cuidadosamente o que vendiam a crédito. As contas, de muitas parcelas alinhadas, abatiam-se ou saldavam-se quando aparecia o dinheiro da venda de um vitelo, de um cabrito, de feijão e milho. - A conta está comprida, Abílio! - Isso é com a minha mãe. Aquela frase de Ana Teresa punha-me a sangrar por dentro. Ficava envergonhado por ela estar sempre a dizer-me que em minha casa não havia dinheiro para pagar o que comíamos. Revoltava-me. Apetecia-me dizer-lhe: Ó sirigaita, falas assim porque és filha única, e tiveste a sorte de nascer no meio da fartura. Que culpa tenho eu de não ter a mesma sorte que tu tiveste? Tu, que até és catequista e lês a epístola nas missas de domingo, que prazeres tens em humilhar-me? Ah, Ana Teresa, mas um dia tudo será diferente! Eu hei-de ter dinheiro para comprar tudo o que está dentro desta venda e ainda me hás-de dar troco. Porque me tratas tão mal, Ana Teresa? Porque não gostas de mim, Ana Teresa? Será por ter as mãos sujas e as unhas roídas até ao sabugo? Será por ser pobre? Anda lá, Ana Teresa, gosta de mim. Por favor! - Até logo, menina. - Vai pela sombra... Saía da venda destroçado. Mas, sempre que podia, voltava lá. E comprava uma caixa com quarenta fósforos, que era a coisa mais barata que a Ana Teresa tinha para vender.
- Que fizeste, Toninho? - Ninguém viu. Está escuro. - Se o pai de Ana Teresa descobre, estamos tramados. - Quem anda aí? - gritou o Renato, pai de Ana Teresa, de fora da venda. Meu irmão e eu estendemo-nos no chão. - Quem anda aí? Senti no peito as batidas apressadas do meu coração. Se fôssemos descobertos, que é que havíamos de dizer? Ninguém ia acreditar na nossa verdade. O que diria a Ana Teresa? - é sempre isto. Esta ciganada só nos incomoda. Viesse uma praga que acabasse com eles de uma vez por todas. Mal chegaram e já começaram a faltar-nos ao respeito - concluiu o Renato. - Se eles pensam que podem fazer o que lhes apetece, estão muito bem enganados... - ameaçou uma voz esganiçada. Era o sapateiro. A coruja voltou a gritar. - Vai-te embora, bicho agoirento! - gritou a mãe de Ana Teresa. - Seria a coruja? - perguntou o sapateiro. - Foi a coruja, foi... - disse eu, baixinho. Rimo-nos. O sapateiro era mais medroso que o Toninho. Acreditava em bruxas e lobisomens e ia a Fátima, a pé, todos os anos. Chamava-se Américo e eu nunca gostei muito dele. Baixinho e careca, ele gostava muito de coscuvilhar sobre a vida de toda a gente de Montepó. Levantava calúnias, inventava factos e depois, seraficamente, desdizia tudo o que afirmara. Vivia numa casa pequenina - cozinha, sala e quarto - e era casado com a Aninhas sardinheira. Todos os dias, chovesse, ventasse, houvesse sol ou caísse chuva, ela saía de madrugada de Montepó e voltava a meio da tarde com a canastra à cabeça, cheia com peixe nem sempre muito fresco. Tinha o pescoço torto por ter andado a vender sardinhas e carapaus desde menina. Pelo menos era o que ela dizia, queixando-se também das varizes salientes que lhe tomavam as pernas. As varizes faziam lembrar as gavinhas das videiras. Dizia-se que a Aninhas não era muito fiel ao marido. Minha mãe não acreditava. - Coitada da mulher. Basta-lhe aquele carrego sempre em cima da cabeça. Infeliz de quem cai na boca do povo. Infeliz da mulher que tem de sair de casa para governar a vida. Às vezes, a Aninhas não conseguia vender o peixe todo. Ao anoitecer, batia à nossa porta para nos vender em saldo as sardinhas excedentes. Minha mãe salgava-as num caixote. Assim não se estragavam. Podíamos comê-las uma semana ou duas depois, lavadas, assadas e temperadas com muito alho, azeite e vinagre. Apesar de salgadas, aquelas sardinhas eram um bom petisco. A Aninhas não tinha filhos. Em Montepó, dizia-se, entre sorrisos, que a culpa era do sapateiro, por ser uma amostra de homem. - Volto atrás. Disse que estávamos deitados no chão, a rir-nos para espantar o susto da pedrada na vidraça da janela do quarto de Ana Teresa. Aliviados por não termos sido descobertos. A coruja calou-se. - Onde estará a mãe? Não estou a gostar nada disto! - disse eu, sem saber onde procurar. - Andamos aqui a apanhar frio e ela se calhar já está em casa. - Vai a casa ver se ela lá está. Se estiver, dá três assobiadelas. - Está muito escuro. Vai lá tu. - Está bem. E tu ficas aqui a vigiar. Um deles tem de aparecer. - Eles sabem o caminho. Nem vou a casa, nem fico aqui sozinho. Para onde for um, vai também o outro. - Quando fores para a tropa, borras-te todo. Quando fores para Angola ou para Moçambique ou para a Guiné, tu és obrigado a perder o medo. Ou então morres... - Eu não quero ir para a guerra. Não gosto de matar pretos. Fujo e nunca mais ninguém me apanha. - Isso é o que tu pensas, Toninho. Isso é o que tu pensas. Eu estou pronto para defender a minha Pátria. - Eu sou pequenito. A Pátria não quer soldados baixinhos. - Tens razão. Farejando a nossa presença, o Farrusco ladrou. - Mãe. - Pai. Não estava ninguém em casa. Passámos, com muitos cuidados, pelo sítio onde os ciganos tinham acampado. Os cães ladraram furiosamente, presos às rodas da carroça. Pequenas labaredas da fogueira feita no chão iluminavam o largo. - Vamos sair daqui, senão ainda podem dar-nos um tiro - sussurrou o Toninho. Passámos pela venda do Renato. A luz dos dois candeeiros a petróleo que havia lá dentro escoava-se pelas frinchas da porta. O Renato estava a dizer que assim não podia ser, que já esperara tempo mais que suficiente, quase um ano, e que assim não podia fiar mais. Que tivesse paciência. Não nos interessou descobrir quem pedia fiado. Essa conversa já nós a conhecíamos de cor e salteado. Continuámos a caminhar, agora com os olhos mais ambientados à escuridão. - Onde se terá metido a mãe? - perguntou o Toninho, soprando nas mãos. - E o pai, onde é que está? - respondi.
Abrimos o cancelo com cuidado. A luz, que as frinchas da porta da cozinha deixavam filtrar ajudou-nos a passar pelo carreiro que ia dar à casa do velho Paulino. As cadelas, presas à beira do tanque, rosnaram por breves instantes. Depois calaram-se. - Pai! - disse eu, a medo. As cadelas voltaram a rosnar. - Pai! - repetiu o Toninho. - Quem está aí? - perguntou o Paulino. - O meu pai não está aí, tio Paulino? A porta da cozinha abriu-se. À nossa frente, envolto numa manta de fumo, estava o velho, com uma velha e surrada samarra sobre os ombros. - Ah, sois vós... - O meu pai já não está aqui? - perguntou o Toninho. - Não. Já saiu há muito tempo. Ceou, paguei-lhe e foi-se embora. Quereis duas castanhas assadas? Quereis? São dadas de boamente. Aceitámos as castanhas quentinhas e já descascadas. Metemo-las nos bolsos e agradecemos como minha mãe nos ensinara: - Bem-haja pelas castanhas. - Quereis uma pinguinha de vinho morninho com açúcar? Tenho ali uma caneca no borralho. com as castanhas, sabe muito bem. Quereis? O Toninho ia a dizer que sim. Dei-lhe um beliscão num braço, e respondi que não, bem-haja, mas ainda não tínhamos ceado. - Pois o vosso pai saiu daqui há muito tempo. Pouco depois de ter anoitecido. - Ele estava, como é que hei-de dizer... ele... - Não, não estava. Só tinha um grãozinho na asa. Nada de especial. - Ele não disse para onde ia? - Por acaso, não. Mas o mais certo é estar na venda. Sabeis como é o vosso pai... Respondi que por acaso tínhamos passado pela venda e ele não estava lá. - Não fiqueis preocupados. Se calhar, já está em casa. Ide com Deus. - Boa noite, e bem-haja, tio Paulino - disse eu, secundado pelo Toninho. - Ide com Deus! Fechámos a cancela e voltámos à escuridão do caminho. Mas não era o negrume da noite que me afligia. O que me consumia era não saber onde é que minha mãe estava metida, nem conseguir adivinhar o paradeiro do meu pai. - Já estou farto disto. Vamos para casa e seja o que Deus quiser - propôs o Toninho, saboreando as castanhas. - Isto não me cheira bem - disse eu. A coruja recomeçou a piar. - Parece que engraçou connosco, aquela nojenta. - Não te ponhas a atirar com pedras, Toninho. Deixa a bicha em paz. - Deus criou bicharada que até mete nojo! Não era precisa tanta coisa. Já viste? Moscas, varejeiras, cobras, salamandras, aranhas, morcegos, corujas... Para que é que isso serve? - E adianta estares a gastar saliva com essa conversa? Está calado, Toninho! - vou para casa. Estou arrepiado de frio. Vens comigo até lá? Não era má ideia. Passámos pela casa de Ana Teresa. Não havia luz na venda. Um silêncio profundo cobria Montepó. Quando abrimos a porta da cozinha, já não havia lume. E a candeia, gasto o petróleo, estava apagada. Deitei petróleo na candeia e acendi a mecha. O Toninho tirou os feijões para o prato, apaladou-os com azeite e vinagre e começou a comer. - Se a mãe aparecer, diz-lhe que não me demoro. Ouviste? - Para onde é que tu vais, Bilo? - À procura da mãe. - E o pai? Não respondi.
Caminhando sozinho nas ruas, tropeçando no chão irregular das quelhas e embrulhado na escuridão, tudo em que pensei me pareceu muito grande ou demasiado excessivo. Aprendi que, quando estamos sozinhos e conseguimos ouvir o bater do nosso coração, tudo o que tenhamos visto, ouvido ou pensado fica muito mais nítido. Se os olhos não enxergam com nitidez, não é por isso que deixamos de ver à nossa frente imagens embrulhadas em sons e sentimentos que fazem parte de nós e são tão reais e nítidas como a pele que nos cobre. E o que mais impressiona é que essas imagens nunca têm idade. Caminhava por Montepó sem rumo definido. Todas as casas estavam às escuras, envoltas num silêncio arrepiante. Embora nunca conseguisse ter-lhe visto aqueles dois grandes olhos fixos, a olhar de frente, e a plumagem macia, nem ouvir o seu silencioso voo, a coruja voltou a seguir-me. Seus gritos estridentes ecoavam por todo aquele vale. Lembrei-me da história da coruja, que tantas vezes escrevi na escola, até a decorar, em cadernos fininhos de linhas azuis, sob o olhar severo do professor Arlindo, atentíssimo à pontuação e aos erros ortográficos. Título, a meio da linha: ”Amor de mãe”. Na linha seguinte, com o início do parágrafo bem destacado: ”Num dia primaveril, com o sol a brilhar num céu azul, voava uma águia com as unhas afiadas e bico recurvado, como é próprio das aves de rapina. A águia andava à procura de alimento. A coruja, vendo a águia, pediu-lhe: - Comadre águia, por favor, não comas os meus filhos. Respondeu a águia: - Podes ficar descansada, amiga coruja. E como é que poderei reconhecer os teus filhos para não lhes tocar? - é muito fácil, comadre. Quando vires as avezinhas mais bonitas do mundo, saberás que são minhas! - exclamou a coruja. Mais tarde, a águia encontrou uns bichos muito feios dentro de um ninho. A águia pensou: - Estes bichos tão desengraçados não podem ser os filhotes da coruja! Assim, comeu-os, deliciada. Moral desta história: Todas as mães são como as corujas, pensam que os seus filhos são sempre os mais bonitos do mundo.” Já não sabia o que fazer. Uma angústia pesada começou a tomar conta de mim. Sentia-me o rapaz mais infeliz do mundo, perdido e completamente abandonado. Apeteceu-me gritar bem alto, muito mais alto que a coruja, pouco me importando com o desassossego que traria a Montepó: - Mãe, onde é que está? Mãe, onde é que se meteu? Mãe, tenho fome, mas quero comer à sua beira! Apareça, mãe! No extremo de Montepó, quando já não havia casas, nem currais, assustei-me. Vi, ao longe, uma chama súbita, muito intensa, que iluminou o caminho, os campos e as árvores depenadas de folhas. Os cães começaram a ladrar. Um bando de pássaros riscou o céu e passou por cima da minha cabeça. Atordoado, com o coração aos saltos e as veias a latejar, quis gritar pela minha mãe, mas não consegui, porque fiquei sem voz.
Há algum tempo que se falava em Montepó desses fogachos que apareciam e desapareciam a meio da noite. A tia Olinda dizia que eram almas penadas a vaguear pelo mundo e que não podíamos chegar-nos muito por perto. Se o fizéssemos, estávamos sujeitos a ficar com a pele queimada, e sem barba nem cabelo para o resto da vida. Ficávamos com a cabeça parecida com os nabos. Crescemos a ouvir estas coisas. O professor Arlindo ria-se e gritava que só as pessoas analfabetas ou incultas é que acreditavam nessas patranhas. Não havia almas penadas, nem bruxas, a noite era igual ao dia, o dia igual à noite, e a terra girava sem parar no seu eixo imaginário, e quem dissesse o contrário não passava de um ignorante. Eu ficava triste. Era melhor que houvesse almas penadas a vaguear pelo mundo, e bruxas à beira do rio. Meu avô jurava que tinha visto sete bruxas ao luar duma noite de Janeiro. - Como é que são as bruxas, avô? - São lindas, tão lindas, menino. Têm os cabelos loiros, e são tão compridos que lhes chegam até ao fundo das costas. As bruxas não falam com a boca, falam com os olhos. Elas olham para nós e nós percebemos logo o que elas querem dizer. Não usam saias nem vestidos, enrolam um pano à volta do corpo. Mas o pano parece feito com teias de aranhas. É tão fininho e tão transparente que se vê tudo. Elas gostam de dançar. Parecem libelinhas. - Que é que o avô conversou com as bruxas? - Nada. Que é que eu havia de dizer? Elas adivinham os nossos pensamentos. Respondem antes de perguntarmos. - Quando é que isso aconteceu? - Numa noite de Janeiro, quando o luar é muito bonito e as gatas chamam pelos gatos em cima dos telhados. Quando isso me aconteceu, já era um rapaz espigado, e muito valente. Meu avô caminhava sozinho a pensar na sua vida, sem medo nenhum, que nunca foi homem de ter medo à noite. - Às tantas, na curva do caminho, à beira do rio, elas apareceram à minha frente! E logo começaram a bailar e a chamar-me com os braços estendidos. Eram sete, tantas como os pecados mortais, que nunca se devem esquecer: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Ai menino, e que bem que elas dançavam. Nem tive tempo de me benzer. Fui atrás delas, completamente enfeitiçado. Depois não sei o que aconteceu. Só vos posso afiançar que quando acordei estava no meio do rio, a tremer como varas verdes e molhado até ao tutano dos ossos. Apanhei uma doença que ia dando cabo de mim. Estive duas semanas deitado na cama com umas febres medonhas que me faziam delirar e dizer coisas que ninguém entendia. Se não fossem os cuidados da minha santa mãe, que deve estar lá no céu, à direita de S. Pedro, a esta hora nem pó seria... Comi muitos ovos mexidos com vinho e açúcar. Comi muitos caldinhos de galinha. Acabei com a capoeira! Eu gostava muito de ouvir o meu avô falar dessas coisas. Às vezes, não entendia muito bem as palavras antigas que ele usava, mas, mesmo assim, era bom acreditar nas suas fantasias, imaginar bruxas nuas a tomar banho no rio. - Como são as caras das bruxas, avô? - São muito branquinhas, mais brancas que a farinha de cozer o pão. - E nunca mais as tornou a ver, avô? - Não, foi só naquela noite. Casei-me logo a seguir e, claro, deixei as noitadas e os bailaricos, as jogatinas e as pingoletas. - O que são pingoletas, avô? - São copinhos de vinho. Agora um, depois outro, e já agora outro e mais outro. As pingoletas são próprias da mocidade. Minha mãe, que de vez em quando ia arrumar-lhe a casa, dava um suspiro muito profundo e metia-se na conversa: - Credo, meu pai! Até parece que está a querer meter o vício do vinho aos netos! Já não basta a cruz que tenho em minha casa. - Tens a cruz, porque a quiseste carregar. Eu bem te avisei, mas não quiseste ouvir-me... Essa conversa ”da cruz” repetia-se praticamente todas as vezes que minha mãe ia limpar a casa do avô. Quando eu era muito criança, não percebia as palavras do avô. Mas o tempo faz a idade e a idade vai-nos ensinando a melhor perceber o mundo. Bem depressa aprendi que ”cruz pesada” significava Miguel. Só mais tarde soube o que era isso do ”aviso” de que falava meu avô. - Não te cases com esse rapaz, Amélia. É um rapaz trabalhador, mas bebedolas. Espera que apareça outro, minha filha. Ainda tens tempo de arrepiar caminho. Tu lá sabes da tua vida, mas depois não me digas que não te avisei - tinha dito meu avô, dias antes de se fazer o casamento, no dia vinte e quatro de Novembro, o último sábado do mês de Novembro de mil novecentos e cinquenta e um. Sabia muito bem essa data porque a minha mãe, quando se punha a lamentar a sua sorte, costumava dizer: - Casei-me no dia vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e cinquenta e um. E nem nesse dia o vosso pai foi capaz de fugir do vinho. Passei a maior vergonha da minha vida em frente da minha família! Poucas horas depois de me ter casado, já estava mais que arrependida de não ter ouvido o vosso avô. Dava um profundo suspiro e concluía com um fio de voz: - Ninguém pode fugir ao seu destino.
A chama que eu seguia começou a perder brilho e a amarelejar. Cada vez mais fraca, mais mortiça. Corri ainda mais depressa para chegar junto dela antes de se extinguir. Galopei por caminhos e quelhas. Molhei os pés em regatos e lameiros. A coruja seguia-me e piava de vez em quando. Desisti de descobrir o seu paradeiro. O que me interessava era descobrir onde ficava aquela labareda que se tornava cada vez mais insignificante. Para encurtar caminho, saltei um muro. O muro era mais alto do que pensava e caí mal. com dores lancinantes no meu pé esquerdo, rebolei na erva molhada, pensando que tinha o pé partido. De repente senti que estava a cair outra vez. Fui parar dentro de um tanque a transbordar. A água era muito fria e chegava-me até ao pescoço. Caminhei com dificuldade, enterrando os pés no lodo pegajoso que havia no fundo do tanque. Quando saí, tinha o corpo gelado. Os dentes batiam como castanholas. - Aqui já ninguém se molha mais! - gritei. Bufando como um gato assanhado, retirei o pau grosso que tapava o buraco que havia no fundo do tanque. Liberta do obstáculo, a água logo jorrou com abundância e intensidade. A torrente impetuosa que se formou galgou os regos e alagou campos, carreiros e caminhos. Resolvi desistir. Confuso, aborrecido, esfomeado e com a roupa molhada, comecei a caminhar em direcção a casa. A coruja recomeçou a aborrecer-me com os seus gritos estridentes. Olhei para trás e vi que a chama continuava no mesmo sítio, embora pouco ou nada alumiasse. Lembrei-me das palavras do meu avô, que sempre me disse, desde muito pequenito: - Um homem valente nunca vira a cara a nada. O caminho é sempre em frente. Para trás, mija a burra! Eu sempre quis ser um homem valente. Embora às vezes muito me custasse, esforçava-me por não virar a cara às dificuldades. Mudei de ideias. com os pés enfiados nas chancas molhadas, pus-me a caminhar em direcção à luzinha que tremelicava na escuridão, pouco me importando de voltar a cair e a molhar-me. O frio era maior à medida que me aproximava do rio. O rio de Montepó não é rio, ainda hoje, para figurar nos mapas, dada a sua pequenez. De Inverno, incha desmesuradamente, bufa, passa por cima das pontes e alaga os lameiros. No Verão, encolhe a abundância de água e fica povoado de rãs, cobras e agriões. Manchas enormes de agriões que parecem cabeleiras verdes a decorar as margens e a boiar à tona da água. Também tinha trutas que se escondiam nas tocas mais fundas que se formam por baixo das raízes dos amieiros. Era na água fria e límpida desse rio que as mulheres de Montepó iam, uma vez por ano, lavar as mantas, cobertores e enxergas que depois punham a corar nos lameiros. Quem visse de longe espantava-se com aquilo. Parecia que, em pleno Verão, havia neve à beira do rio. As enxergas, para quem não saiba, eram os panos dos colchões que toda a gente usava nesse tempo em Montepó. Enchiam-se com palha e duravam um ano inteiro. No Verão do ano seguinte a palha era retirada da enxerga. A palha ia forrar o chão do cortelho do porco, e a enxerga era lavada no rio e estendida sobre a erva dos lameiros. Já perto do rio, ouvi o barulho da mó do moinho a girar numa cadência monótona e ininterrupta. Caminhei mais um bocado, tremendo de frio, e a luz que me perseguia apareceu bem perto de mim. Contente, desatei a correr, pouco me importando onde punha os pés, dando mais uma vez razão a meu avô: - Nunca te esqueças, menino: o caminho é sempre em frente!
Depois de muito caminhar e tropeçar, vi que uma fogueira quase extinta iluminava a porta do moinho de Montepó. A porta estava escancarada. Não era costume que isso sucedesse. Desde pequeninos éramos instruídos a nunca deixar a porta de um moinho aberta. Ela devia permanecer sempre fechada por causa do vento, da chuva e da bicharada. Uma rajada de vento ou mesmo um pequeno sopro podia espalhar a farinha que a mó vai cuspindo para o monte que se forma no chão de pedra. A chuva podia molhar a farinha e a bicharada sujá-la. No entanto, era no moinho que viviam as maiores ratazanas de Montepó, sempre difíceis de apanhar nas ratoeiras. A única alma capaz de as apanhar pelo rabo, grosso, negro e comprido, não se incomodando com os dentes que mostravam por baixo daqueles bigodes compridos, nem dos guinchos que soltavam, era o Tolinho do Rio. Ele segurava-as pelo rabo e desfazia-lhes a cabeça contra uma pedra ou uma parede, gritando todos os nomes obscenos que sabia - e eram muitos. Nesse tempo, era com a farinha de milho e centeio que as mulheres de Montepó coziam o pão. Nos fornos a lenha, que demoravam duas horas a aquecer, metiam broas de pão escuro que se gastavam numa ou duas semanas. Minha mãe cozia o pão aos sábados à tarde, de quinze em quinze dias. Quando ela se queixava com dores de cabeça e de barriga, era a tia Olinda que vinha fazer o pão. Era ela que peneirava, amassava, tendia e enfornava. Eu encarregava-me de tapar as frestas da porta do forno com cinza amassada com água ou com bosta das vacas que colhia nos caminhos de Montepó. A bosta cheirava a erva. Depois lavava as mãos e as unhas com cinza e água e, antes de as enxugar, esfregava-as com folhas de hortelã que crescia numa panela de ferro, à porta da cozinha. Fui-me aproximando com bastantes cautelas. Afinal, o que é que estava a fazer ali aquela fogueira? Quem estaria lá dentro? E se fosse uma quadrilha de ladrões? Em muitas das histórias que ouvíamos em Montepó havia quadrilhas de ladrões que faziam a partilha dos roubos no interior das igrejas, capelas ou em moinhos. Geralmente zangavam-se, lutavam, havia mortes e só o mais esperto é que levava consigo o saco com o produto do roubo. Em Montepó nunca apareceram ladrões. Os únicos estranhos que por ali passavam de vez em quando eram mendigos, velhos e derreados, com roupas encardidas e mãos encarquilhadas. Traziam um saco de serapilheira às costas e punham-se às portas das casas a lamuriar avé-marias. Só se calavam depois de receberem a esmola, que nunca era muito afortunada. Dava-se-lhes bocados de pão, malgas de milho ou de feijão e nacos de unto. - Que Deus Nosso Senhor o crie para a boa sorte - diziam, baixinho, numa voz aflautada, depois de o elemento mais novo de cada casa ter deitado a esmola para dentro do saco. - Amém. Vá com Deus - respondíamos. Uma vez por ano, passavam por lá os ciganos, mas raramente acampavam. O mesmo acontecia com o Homem da Boina Preta. Nunca ninguém soube o nome verdadeiro desse homem pouco encorpado, sorridente, calado e tímido. Sabia-se apenas que vinha da Galiza com o seu carrinho de amolador e afiava na roda de esmeril todas as facas e tesouras de Montepó. Paciente, com um cigarro apagado ao canto da boca, compunha as varetas e as molas dos chapéus-de-chuva. Perseverante, ajustava, uma e segurava com arames finos os cacos das malgas e dos pratos que, por qualquer motivo, se tinham despedaçado ao longo do ano. Simpático, mas de poucas falas, com a boina preta sempre na cabeça, comia na venda do Renato. Dormia num palheiro e partia de Montepó repetindo o que fizera à chegada: tocando uma gaita. - Até ao ano, ó feijão galego! - gritava, de longe, a criançada. Ele fazia de conta que não era nada com ele e caminhava apressado, agarrado à traquitana. Nunca tive coragem para o dizer em voz alta, mas agora aqui devo confessar que muito pedi a Santo António para que fizesse aparecer em Montepó ladrões iguais aos que entravam nas histórias que nos contavam. Gostava de poder vê-los, barbudos e armados até aos dentes, com botas de cavalgar e lenço vermelho atado ao pescoço. O local ideal seria dentro da capela de Montepó, com a imagem de Santo António no altarzinho de madeira. Adorava estar escondido por trás do altar a vê-los chegar, cansados e esbaforidos. Vê-los, entre risos e goladas de vinho e aguardente, a tirar dos sacos objectos de ouro e prata e montes e montes de notas. Adorava ter a oportunidade de vê-los a partilhar, à luz de uma vela, as pilhagens, as discussões, a violência, as facadas e o sangue. As histórias têm esse supremo encanto: de repente parece que se tornam reais e nós, depois de entrarmos nelas, nunca mais de lá conseguimos sair. Por mais que nos esforcemos, jamais apagamos da memória essa doce magia que nos persegue, como se estivesse agarrada à nossa pele.
Avancei devagar, com medo, com muito medo. Pensava: quem estará ali metido a estas horas da noite? A coruja voltou a piar e eu assustei-me. A tremer de frio, enregelado até às pontas dos cabelos, fui avançando fincado nas palavras de meu avô: - Nunca te esqueças, menino: o caminho é sempre em frente! Muito perto da fogueira, ouvi um grito. Um grito muito intenso. Um grito de alguém que sentia uma dor profunda. Um grito de mulher. Um grito que me pareceu familiar. - Mãe?! Mãe! Corri, como um assustado coelho bravo, aos ziguezagues. No meio da porta, de braços abertos, estava uma mulher de saia comprida à minha espera. - Mãe! - Não podes entrar aqui! - disse a mulher, no meio da porta. Conheci-a logo. Era a cigana de saia preta, pés descalços e lenço na cabeça que eu tinha visto a cortar batatas muito pequenas para dentro de uma panela de barro. Era a mãe do rapaz que se chamava Irineu. - A minha mãe está aí? - Está. Está aqui dentro. Mas tu não podes passar por esta porta. Vai chamar teu pai. - Não estou a entender. O que é que a minha mãe tem? Mas porque é que não posso entrar? Não manda em mim. Mãe?! Uma voz cansada respondeu. - Filho, faz o que essa santa mulher te diz! Vai chamar o teu pai. - Mãe?! Que é que está aí a fazer? Eu não sei onde é que o pai se meteu! - Vai chamar a tia Olinda, vai... e não demores. De dentro do moinho, com a mó sempre a girar, pareceu-me ouvir um barulho estranho. Parecia um gato a miar. - O que é que está aí dentro? - Está um bebé. Está um anjinho ali dentro. Que tal? - disse a cigana, sorrindo. Fiquei pasmado, tremendo de frio. - É menino ou menina? - Menino. - Não posso vê-lo? - Não podes passar por esta porta. - Porquê? - Porque vem a caminho outro anjo. - Dois?! - Sim, pelo menos, dois! - Sai daqui, filho, sai. Vai chamar a tia Olinda - pediu minha mãe. Corri até perder o fôlego. E sucediam-me ideias a uma velocidade estonteante, imagens em catadupa. Se nascessem dois irmãos, passávamos a ser sete bocas em casa. Onde é que se ia arranjar espaço para mais uma cama? Onde é que se ia arranjar espaço para pôr mais duas colheres e duas malgas? Porque é que ela tinha uma barriga tão pequena? Porque é que a minha mãe quis ficar no campo, sozinha? Porque é que não veio mais cedo embora? Se calhar, já não teve tempo e arrastou-se para dentro do moinho. E como é que apareceu ali a cigana? Onde se teria metido o meu pai? E se eu acordasse o Toninho para lhe dar a novidade? A tia Olinda percebia tanto de crianças como eu. Ela era solteira, não sabia o que era isso de ter filhos. Porque é que a minha mãe não me disse que faltava pouco tempo para dar à luz?
Encostado a um muro, exausto, com o coração a querer sair pela boca e uma dor fina a alfinetar o lado direito da barriga, continuava a ver as imagens a desfilar a grande velocidade. Via meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu avô, a tia Olinda, o Tolinho do Rio, o silêncio de Montepó. Via Ana Teresa sentada no pátio, junto dos vasos de sardinheiras, com seus dedos finos, seus lábios carnudos. Punha-me a pensar. Não, Ana Teresa, nunca hei-de ser como o meu pai. Não, não hei-de ser um bêbado, Ana Teresa, sempre agarrado ao copo do vinho, ao gargalo de qualquer garrafa, ao buraco da cabaça, ao cálice de aguardente logo pela manhã. Não, não hei-de ser um traste, Ana Teresa. Não hei-de ser um safado para a minha mulher. Ana Teresa, quando te casares comigo, e eu não sei quando isso acontecerá, porque posso ir para a tropa e morrer em Angola, na Guiné ou em Moçambique, verás que eu não sou nada parecido com o meu pai. Nunca hei-de levantar a mão para te bater, Ana Teresa. Juro, Ana Teresa, que nunca te darei punhadas no peito, nas costas, na cara, nos olhos, na boca, no nariz. Não te darei pontapés nas ancas, nas pernas, na barriga, Ana Teresa. Nunca pegarei num pau ou numa vara para te bater na cabeça, nos ombros, nas pernas, nas ancas, no peito, na barriga, como se fosses um bicho. Juro, Ana Teresa. Que Deus me cegue e me faça maneta se eu quebrar este juramento. Eu não quero ficar aqui, minha querida. Não, não hei-de morar por muito mais tempo em Montepó. Quero partir, quero ir descobrir mundo, ganhar dinheiro, estudar. Sim, eu quero estudar. O meu padrinho disse-me que há escolas que dão aulas à noite. É isso que vou fazer. Custa-me deixar a minha mãe, os meus irmãos. Custa-me não ficar aqui a ajudá-la a cuidar de tanta faina. Mãe, tenho de sair daqui, preciso de fazer o que o avô me ensinou: - Nunca te esqueças, menino: o caminho é sempre em frente! Um dia, hei-de voltar a Montepó, e a mãe vai ficar contente por me ver bem calçado e bem vestido, de fato e gravata e com dinheiro na carteira e nos bolsos. Mãe, desculpe dizer-lhe isto, assim com tanta crueza: Estou farto de ver tanta tareia em nossa casa, tanto grito abafado, tantas palavras ruins, tanta violência escondida debaixo das telhas da nossa casa. Desde pequenino que vejo, calo, sofro, escondo, tento esquecer. Já não aguento mais, mãe, quero sair desta casa que, às vezes, parece um inferno. Perdoe, mãe, perdoe o que lhe vou dizer: Juro que se me chamasse Amélia não queria ter mais filhos de um homem bêbado, um bicho que bate na mulher quando perde o juízo, mija nas calças e cai no chão como um saco de batatas. Não sei como isso se impede, mas deve haver uma forma qualquer de não ter filhos, mas eu não sei, não sei nada dessas coisas, mãe. Não sei absolutamente nada sobre filhos porque ninguém me explicou e toda a gente tem vergonha de tocar nesses assuntos. Mas gostava de saber, palavra que gostava que alguém tivesse comigo uma conversa séria sobre esses assuntos.
Bati, de mansinho, com os nós dos dedos da mão na porta. - Tia. Não ouvi barulho. Pareceu-me que a tia Olinda ressonava. Fartei-me de aplicar pancadas cada vez mais apressadas e mais prolongadas na porta. Uma voz estremunhada e expectante veio de dentro de casa. - Quem é? - Sou eu, tia. - Bilo?! Que aconteceu? - A minha mãe disse para a vir chamar. - Ai, meu Cristo Redentor, o que é que lhe aconteceu? - A minha mãe está a ter um bebé, à beira do rio. - Não me digas?! Ai, Jesus! Coitada! Mas como é que isso aconteceu? Uma luz acendeu-se dentro de casa. Pouco depois, a tia Olinda ia atrás de mim com um lampião aceso, remoendo o que eu lhe tinha dito sobre o meu pai. - Ai Jesus, a tua mãe está a ser assistida por uma cigana! Credo, Virgem Santíssima! Como é que isso aconteceu? Porque não chamou a Luzinha? A Luzinha é que havia de estar junto dela. Tu já foste chamar a Luzinha? A Luzinha era uma velha que vivia fora de Montepó, numa terra chamada Pedrinha do Sol. A Luzinha tinha jeito para ajudar a fazer partos. Também eu nascera com a sua ajuda no dia um de Agosto de mil novecentos e cinquenta e dois. Foi ela quem cortou o cordão umbilical do meu irmão Toninho e da Rosa. Cortou o de Ana Teresa e de todos os rapazes e raparigas que andaram comigo na escola e na doutrina. A Luzinha ajudava a fazer os partos e não permitia que mais alguém estivesse por perto. Sozinha, de braços arregaçados, ajudava o bebé a nascer. Dava-lhe o primeiro banho. Matava uma galinha gorda. Enchia uma tigela de canja muito bem fervida e dava-a à mulher que acabara de pôr mais um filho em Montepó. Pagavam-lhe mais tarde. Entregavam-lhe bacalhau, quilos de açúcar e de arroz. Como não sabia ler nem escrever, a Luzinha tinha a porta da cozinha muito golpeada. Esses golpes eram trofeus para a Luzinha. Era ela que os fazia com a faca de cortar as couves, e tinha muito gosto neles. Cada golpe representava uma criança que ajudara a nascer. Havia muitas centenas de golpes na porta da cozinha da Luzinha. Dizia-se que eram quase mil. Mas não posso jurar, porque nunca consegui contá-los. A coruja seguia-nos. - Ai credo, esta coruja faz-me aflição. Detesto as corujas - disse ela. - Xô, xô, vai-te daqui, bicho do diabo! A cigana recebeu-nos com um sorriso. As labaredas da fogueira que estava à porta do moinho iluminavam a noite escura. - Ainda não podes entrar, menino - disse ela. - Vai para casa, filho, este é um assunto de mulheres. Vai mudar-te, antes que apanhes uma pneumonia - disse a tia Olinda, metida dentro do moinho iluminado pelo lampião, com os braços abertos entre a porta. Fiz o que ela me mandou. Pouco depois, outro grito espantou a noite. Um grito de alguém que sentia uma dor profunda e um imenso cansaço. A meio do caminho assustei-me. Uma figura mal distinta aproximava-se, ligeirinha. Confesso que me lembrei logo das bruxas e das almas penadas que vagueiam pelo mundo. Escondi-me atrás de uma árvore e esperei que aparecesse. Sustive a respiração quando vi o vulto a passar muito próximo de mim. Apesar de manquejar, andava bem depressa. Levava em cima dos ombros um grande molho de erva. Caminhava com as costas curvadas, o olhar espetado no chão. Percebi logo o que se estava a passar. O cigano esperou pela noite para ir a um lameiro cortar erva para dar ao burro. ”A erva tem dono. Mas o burro também precisa de comer”, pensei, esperando que o cigano se distanciasse. Entrei em casa com cautelas e constatei que meu pai continuava desaparecido. O frio gelava as pedras da cozinha. Comi um bocado de pão e nozes. Tirei a roupa encharcada, vesti uma camisola e umas ceroulas e deitei-me na cama com muito cuidado para não acordar o Toninho. A cama estava gelada. Para aquecer mais depressa encostei-me ao Toninho, que dormia profundamente. Sentia um grande cansaço. Os olhos ardiam-me imenso. Fechei-os. Era tão bom adormecer naquele silêncio apenas quebrado pelo respirar tranquilo de meus irmãos.
Acordei sobressaltado, pouco depois de me ter deitado. Saltei da cama, acendi o toco da vela poisada em cima da cadeira e vesti as calças que estavam penduradas num prego espetado na parede. Eram as minhas melhores calças, as calças que levava às missas de domingo, aos funerais e às feiras. Eram as calças que vestia quando ia aos bailes a ver se a Ana Teresa queria dançar comigo. Quando isso acontecia, sentia-me o rapaz mais feliz do mundo. Nem me apetecia lavar as mãos para não perder o cheiro do perfume que ela usava. Tinha outras calças de uso diário, remendadas, com fundilhos e joelheiras, mas não sabia onde minha mãe as tinha posto. Levantei a tampa da caixa de carvalho, negra e velha, encostada à parede. Era lá que a minha mãe guardava a roupa dos filhos. A caixa tinha no fundo bolinhas brancas que se compravam na venda de Ana Teresa. Bolinhas de naftalina que servem, como toda a gente sabe, para impedir que as traças roam os panos e as roupas. O cheiro intenso da naftalina entranhava-se na roupa e no corpo, que eu detestava. Pragmática, minha mãe respondia-me: - Não fujas de quem cheira a naftalina, a lixívia e a sabão! Tirei da caixa umas meias de lã de ovelha, que a tia Olinda me oferecera no dia dos meus anos. Peguei no toco da vela acesa e procurei o lampião, mas não consegui descobrir-lhe o paradeiro. Apaguei o toco da vela e saí de casa levando comigo o xaile preto de minha mãe. Apesar de estar escuro como breu, eu via perfeitamente as pedras da calçada, como se estivesse em pleno dia. Fiquei admirado com aquilo. Como era possível? Caminhei apressado pelas ruas de Montepó. A uma velocidade estonteante, imagens soltas ocorreram-me em catadupa. Onde estaria o meu pai? E se ele tivesse caído de borco numa poça cheia de água, num tanque, num rego ou numa ribeira? Se tivesse caído no meio de um silvado, como já tinha acontecido, era menos grave. Os arranhões desapareciam com o tempo. com a água, a conversa era bem diferente. Bêbado e caído de borco, sem forças para se levantar, podia morrer com os pulmões repletos de água. Talvez o encontrasse estendido e a ressonar no meio do caminho. Se o visse, que é que havia de dizer? O que devia fazer? Não adiantava contar-lhe que a mãe tinha parido dentro do moinho com a ajuda de uma cigana. Toldado pela bebida, não adiantava anunciar-lhe que era pai outra vez, porque ele não ia perceber. Se eu o ajudasse a levantar, a feder a vinho e a vomitado, talvez desatasse a chorar. Talvez ficasse calado, talvez risse ou ameaçasse bater-me. Talvez repetisse até à exaustão: - Eu é que mando, não é ela! Eu sou o homem da casa! Eu não sou fraco! Eu é que mando, não é ela! Eu sou o homem da casa! Se o encontrasse, onde é que o ia deitar? A minha mãe ia precisar da cama toda para ela e para os meninos acabados de nascer. - Desculpe, pai. Eu sei que é meu pai, que lhe devo muito respeito e muito amor, mas é melhor não aparecer hoje. Durma num palheiro, que não lhe faz mal nenhum. O Homem da Boina Preta faz o mesmo e ainda agradece. Não apareça aqui, pai. Não venha infernizar-nos a noite com berros, lambadas e ameaças. Por favor, não apareça hoje em casa! Por favor, pai! Não apareça!
Encontrei a fogueira reduzida a poucas brasas miúdas e a um amontoado de cinza e restos de paus queimados nas pontas. A porta do moinho estava fechada e não havia luz lá dentro. A mó, entoando um som monocórdico, não parava de girar com a ajuda da força da água. Abri a porta e assustei-me. Duas gordas ratazanas começaram a ziguezaguear pelo chão enfarinhado e esconderam-se num dos muitos buracos que havia nas paredes. Dentro do moinho, além do cheiro da farinha, havia um odor novo. Cheirava a suor e a fezes de criança. Encostei a porta com cuidado e pus-me a caminho de casa para ver os meus novos irmãos. Seriam dois, seriam três? Se fossem três, como é que a minha mãe ia fazer para lhes dar a mama? Uma vez, uma ovelha pariu quatro cordeirinhos. O mais pequenino, sistematicamente afastado pelos irmãos, era sempre o último a mamar. Mas pouco mamava, o pobre. Ficou tão raquítico que mal se sustinha de pé. Salvámos-lhe a vida com o leite que metíamos numa garrafa de gargalo estreito. O bicho salvou-se, mas nunca passou de um borrego escanzelado, e sempre cheio de fome. Levámo-lo à feira com os três irmãos, mas ninguém o quis comprar. Meu pai pôs-lhe a pele a secar na véspera da festa de Santo António. Minha mãe untou-o todo com uma massa de banha, alho e hortelã. No dia de Santo António, antes de irmos todos para a missa, que uma vez por ano era rezada na capela, o bicho já estava em cima dum alguidar de barro cheio de arroz, a assar dentro do forno de cozer o pão. A carne que deu foi pouca. Minha mãe defendeu o desgraçado do bicho que comíamos, lamentando não ter mais féveras. - Chupem os ossos, que são muito saborosos. Quem se consolou foi o Farrusco. - Já não estão aqui! - ouvi gritar. Senti o corpo a estremecer. Assustado, virei-me e vi, colado a mim, o Tolinho do Rio. - Que susto, Gabriel! Que andas aqui a fazer? - Foi complicado - disse ele, excitado, com as mãos a mexer na barba e no cabelo. - Foi complicado. Nunca pensei ter de passar por isto. Menino, foi muito complicado! Muito complicado. Foi, foi, pois foi. - O que foi, Gabriel? O que foi? - disse eu, pouco interessado na conversa. - Menino, foi complicado, muito complicado. A Amélia andava a cortar erva. De repente, sentou-se e pôs-se a olhar, a olhar e depois pôs as mãos na barriga, sempre a olhar, sempre a olhar. E eu disse: Ó Amélia, tu que tens? Dói-te a barriga? E ela, coitadinha, cheia de dores disse assim: Chegou a minha hora, Gabriel. E eu disse: Pois, mas eu não sei ajudar-te. Que queres que eu faça? E a Amélia disse: Vai ver se vês uma mulher, olha que isto não vai demorar nada. E eu disse: Pois, não te preocupes, eu vou arranjar a mulher, fica aí descansada. E ela, coitada, ficou no meio da erva, sempre a olhar, sempre a olhar. E eu disse: Vai para o moinho, Amélia, vai! Ela arrastou-se para o moinho e eu pus-me a caminho, aflito, até dei um tombo, porque estas pernas já estão velhas e não me ajudam. De repente, vi uma mulher a cortar erva no campo do Paulino e um homem a alumiar. Vi logo que eram os ciganos, mas, como não tenho medo deles, chamei pela mulher: Ó santa mulher, venha aqui ajudar a Amélia, que vai ter uma criança no moinho. A cigana largou a erva e foi ajudar a Amélia. Eu fiz a fogueirita à beira da porta do moinho e saí de lá, porque não gosto de me meter em certos assuntos. Daí a pouco, nasceu um. Gritou como um cabrito, mas depois calou-se. Depois apareceu a Olinda tecedeira e nasceu outro. Mas esse deve ter os pulmões muito fracotes. Parecia uma ratazana a chiar. Agora já não estão aqui, foram deitar a mãe e os mocitos numa cama. Foi complicado, menino, foi complicado. Até perdi o sono, menino, perdi o sono! Pois foi, pois foi. - Obrigado, Gabriel, ajudaste muito. Tenho irmãos ou irmãs? - Tens dois irmãos, menino. - Dois irmãos?! - Foi a cigana que disse. Olha, menino: não digas ao Paulino que ela andou a roubar-lhe erva. O Paulino tem muita erva e muitos nervos. Se for preciso, digo que fui eu, combinado?! - Juro, pela minha mãe. - Menino, diz à cigana que tenho muito gosto na navalha que lhe emprestei. É uma navalha muito boa. Ela que ta dê, ouviste?
Encontrei minha mãe deitada na cama da tia Olinda. Embrulhados em camisolas, dois bebés muito pequenos dormiam a seu lado. Tinham as cabeças cheias de cabelo muito preto e a cara avermelhada. - Mãe! - Meu filho! Olha que meninos perfeitos tenho aqui. Os teus irmãos são muito bonitos, não são? E já mamaram. Que Deus me dê leitinho para os vingar! Tão lindos, não são?! - Mãe! - Estás com roupa nova! Que aconteceu? - Molhei-me e não vi mais nenhuma roupa. Mãe! -Diz! - Assustei-me, mãe! O pai... - Chiu... Não digas mais nada. Anda cá! Minha mãe estendeu-me os braços, e beijou- -me. com medo de a magoar, não a abracei com muita força. Apeteceu-me chorar. Chorei. Chorámos em silêncio. - Mãe, o pai... - Chiu... Não se fala nisso. Está tudo bem. Tenho mais dois cravos no meu jardim. Sou uma mãe feliz. - Onde está a cigana? - Já foi embora. Amanhã, vais ter com ela e diz-lhe para vir aqui - disse a tia Olinda, banhada em lágrimas. - Para quê? - Tenho aqui umas roupas para lhe dar. E vou comprar um cesto. Se não fosse a cigana, não sei o que teria acontecido à tua mãe. Vai para casa, Abílio, vai. A tua mãe precisa de descansar. Eu estou aqui, não te preocupes. - Vai, filho. Faz o que a tua tia te pede. Sem vontade, deixei a casa da tia Olinda. O silêncio tomava conta de Montepó. Olhei para o céu e vi uma estrela a piscar, lá longe. Que nome teria aquela estrela? A aragem fria da madrugada enregelou-me o corpo. Pensei que não valia a pena correr outra vez todos os caminhos, poças, silvados de Montepó. Meu pai havia de aparecer mais cedo ou mais tarde. Passei junto da casa de Ana Teresa e apeteceu-me acordá-la para lhe dizer: Ana Teresa, minha paixão, juro, pela minha mãe e por tudo o que há de bom neste mundo, que não hei-de ser como o meu pai. Não, Ana Teresa, não serei como ele. Podes crer, Ana Teresa, que os nossos filhos, se os tivermos, não hão-de ter vergonha do pai. De repente, senti uma fome de lobo. Abri a porta da cozinha e, às apalpadelas, consegui descobrir a caixa dos fósforos. Mal acendi a candeia, vi o meu pai deitado na preguiceira. Dormia profundamente. Para não o acordar, peguei num bocado de pão e em nozes e fui comer para junto do Toninho, que ressonava alto, com a boca aberta e os braços abertos. Deu-me vontade de rir: - Que lindo cravo tenho aqui a meu lado. Ressona como um porco!
António Mota
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















