



Biblio VT




É um truque com espelhos. Trata-se de um clichê, não há dúvida, mas não deixa de ser verdade. Os mágicos empregam espelhos, via de regra posicionados em ângulos de quarenta e cinco graus desde que os ingleses vitorianos começaram a produzir superfícies nítidas e confiáveis em quantidade, há mais de cem anos. John Nevil Maskelyne deu início à técnica, em 1862, com um guarda-roupas que, graças a um espelho posicionado com astúcia, ocultava mais do que revelava.
Espelhos são coisas maravilhosas. Parecem dizer a verdade, refletir toda a nossa vida; mas posicione um deles da maneira correta e sua superfície mentirá de modo tão convincente que você acreditará que algo desapareceu no ar, que uma caixa cheia de pombos, bandeirolas e aranhas está realmente vazia; que pessoas escondidas nos bastidores, ou no fosso, são fantasmas flutuando sobre o palco. Deixado no ângulo correto, um espelho torna-se uma janela mágica; capaz de lhe mostrar qualquer coisa que possa imaginar e, talvez, algumas que não possa.
(A fumaça borra os contornos das coisas.)
Histórias são, de um modo ou de outro, espelhos. Nós as usamos para explicar como funciona ou não o mundo. Tal qual espelhos, elas nos preparam para os dias que virão. Afastam nossa atenção das coisas que se ocultam nas trevas.
A fantasia — e toda ficção é fantasia de uma espécie ou de outra — é um espelho. Um espelho distorcido, não há dúvida, do tipo que oculta, posicionado a quarenta e cinco graus da realidade, mas ainda assim um espelho que podemos empregar para nos revelar coisas que, de outra forma, poderíamos não ver. (Contos de fadas, como G. K. Chesterton disse certa feita, são mais do que a verdade; não porque nos contam que dragões existem, mas porque nos dizem que dragões podem ser vencidos.)
O inverno começou hoje. O céu ganhou tons de cinza e a neve pôs-se a cair e não parou até bem depois de escurecer. Sentei-me no escuro e observei o branco tomar conta de tudo. Os flocos cintilavam e bruxuleavam rodopiando indecisos entre a luz e as trevas, e eu quis saber de onde vinham as histórias.
Este é o tipo de pergunta que você se faz quando inventa coisas para viver. Ainda não estou convencido de que esta seja uma ocupação adequada para um adulto, mas agora é tarde demais: tenho uma carreira de que gosto e que não envolve levantar muito cedo pela manhã. (Quando eu era criança, os adultos diziam-me para não inventar coisas, alertando-me sobre o que aconteceria caso não obedecesse. Até agora, o que posso dizer é que isto significou inúmeras viagens ao exterior e não ter de levantar cedo demais pela manhã.)
A maioria das histórias deste livro foram escritas para atender aos muitos editores que me pediram contos para determinadas antologias ("É para uma antologia de histórias sobre o Santo Graal", "... sobre sexo", "... de contos de fadas refeitos para adultos", "... sobre sexo e terror", "... de histórias de vingança", "... sobre superstição", "... sobre mais sexo"). Algumas delas foram escritas para meu divertimento ou, mais precisamente, para tirar uma idéia ou imagem da minha mente e atá-la com segurança ao papel; o que é, para mim, uma boa razão para escrever: soltar os demônios, deixá-los voar. Algumas das histórias começaram na indolência: fantasias e curiosidades que escaparam das minhas mãos.
Certa vez, inventei uma história que serviria de presente de casamento para amigos meus. Era a respeito de um casal ao qual fora dada uma história como presente de casamento. Não se tratava de uma história encorajadora. Depois de tê-la imaginado, supus que os dois provavelmente prefeririam uma torradeira. Então, foi o que ganharam, e, até o momento, não deitei o conto sobre o papel. Está até hoje alojado no fundo da minha mente, esperando que alguém prestes a se casar venha a apreciá-la.
Agora me ocorre (escrevendo esta introdução com a tinta negro-azulada de uma caneta tinteiro, em um caderno de anotações de capa preta, caso você esteja se perguntando) que, de uma maneira ou de outra, embora a maioria das histórias deste livro seja sobre o amor, deste ou daquele tipo, poucas são contos felizes de amor correspondido, capazes de fazer frente às demais que se encontram nestas páginas; e que, na verdade, há pessoas que não lêem introduções. Neste caso, muitos de vocês podem, algum dia, estar diante de casamentos. Assim, para todos que realmente lêem introduções, eis aqui a história que eu não escrevi. (E, se eu não gostar dela uma vez escrita, posso, a qualquer momento, riscar este parágrafo, e vocês jamais saberão que deixei de redigir a introdução para dar início a um conto.)
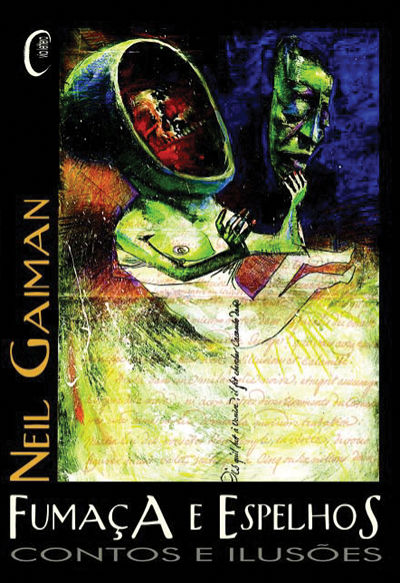
O Presente de Casamento
Depois de todas as alegrias e dores de cabeça do casamento, depois da loucura e da magia de tudo aquilo (para não mencionar o constrangedor discurso, ao fim do jantar, proferido pelo pai de Belinda, coroado pelo show de slides da família), depois de a lua-de-mel ter literalmente (embora ainda não metaforicamente) chegado ao fim, e antes que suas peles recém-bronzeadas tivessem a chance de desbotar no outono inglês, Belinda e Gordon lançaram-se à empreitada de desembrulhar os presentes de casamento e escrever as cartas de agradecimento — muito-obrigados por todas as toalhas e torradeiras, pelo espremedor de sucos e pela máquina de fazer pães, pelos talheres, pela louça, pela chaleira e pelas cortinas.
— Pronto — disse Gordon. — Já agradecemos os objetos maiores. O que está faltando?
— As coisas em envelopes — disse Belinda. — Cheques, eu espero. Havia muitos cheques, alguns vale-presentes, e até um vale-livro de 10 libras da tia de Gordon, Marie, que era pobre como um rato de igreja, explicou ele a Belinda, mas muito querida, e que enviava, até onde ele se lembrava, um vale-livro a cada aniversário. E então, no finalzinho da pilha, havia um enorme envelope marrom, desses do tipo comercial.
— O que é isto? — indagou Belinda.
Gordon abriu a aba do envelope e tirou uma folha de papel amarelado, rota em cima e embaixo, datilografada em um dos versos. As palavras haviam sido impressas com uma máquina de escrever manual, algo que Gordon não via há muitos anos. Ele leu a página lentamente.
— O que é isso? — quis saber Belinda. — Quem mandou?
— Eu não sei — disse Gordon. — Alguém que ainda tem máquina de escrever. Não está assinado.
— É uma carta?
— Não exatamente — disse ele e coçou o nariz antes de ler o texto de novo.
— E então? — disse ela em tom irritado. (Mas não estava realmente irritada; estava feliz. Ela acordava de manhã e via se ainda estava tão feliz quanto ao se deitar na noite anterior, ou quando Gordon a acordava durante a noite esfregando-se em seu corpo, ou quando ela o acordava. Belinda estava mesmo feliz.) — E então? O que é?
— Parece ser uma descrição de nosso casamento — disse ele. — Está muito bem redigida. Veja — e entregou à mulher.
Ela a examinou.
Era um dia claro de outubro quando Gordon Robert Johnson e Belinda Karen Abingdon juraram que se amariam, se apoiariam e se honrariam até que a morte os separasse. A noiva estava radiante e adorável, o noivo nervoso, mas obviamente orgulhoso, decidido e muito satisfeito.
Era assim que começava. Continuava descrevendo de maneira clara, simples e engraçada, a cerimônia e a recepção.
— Muito gentil — disse ela. — O que diz no envelope?
— O casamento de Gordon e Belinda — leu ele.
— Sem nome? Nada que indique quem mandou?
— Nada.
— Bom, muito gentil e atencioso — disse ela. — Seja lá de quem for. Ela olhou dentro do envelope para ver se havia algo mais que não tinham notado, um bilhete que um dos amigos dela (ou dele, ou de ambos) tivesse escrito, mas não havia; então, ligeiramente aliviada por ter um agradecimento a menos a fazer, devolveu o papel amarelado ao envelope, que guardou em uma caixa de arquivo, junto a uma cópia do menu do banquete de casamento, aos convites, às folhas colantes para as fotos da cerimônia e a uma rosa branca do buquê da noiva.
Gordon era arquiteto e Belinda, veterinária. Para ambos, o que faziam era uma vocação, não um trabalho. Beiravam os vinte e poucos anos.
Nenhum deles havia se casado antes, e nem mesmo se envolvido seriamente com outra pessoa. Conheceram-se quando Gordon levara sua labradora de treze anos, Coldie, focinho acinzentado e semiparalisada, ao consultório de Belinda para ser sacrificada. Possuía a cadela desde pequeno e insistiu em ficar ao seu lado até o fim. Belinda segurou sua mão enquanto ele chorava, e então, de repente e de maneira nada profissional, abraçou-o com força, como se pudesse arrancar a dor, a perda e a tristeza, Um dos dois perguntou ao outro se poderiam se encontrar naquela noite, no pub local, para um drinque e, depois, nenhum deles teve mais certeza de quem fizera o convite.
A coisa mais importante a se saber a respeito dos dois primeiros anos do casamento é a seguinte: eles foram muito felizes. De vez em quando, tinham algumas rixas e, ocasionalmente, brigas inflamadas sobre algo sem importância que terminavam em reconciliações lacrimosas; então, faziam amor e enxugavam suas lágrimas com beijos, sussurrando desculpas sinceras no ouvido um do outro. No final do segundo ano, seis meses após parar com a pílula, Belinda viu-se grávida.
Gordon trouxe-lhe um bracelete cravejado de pequenos rubis, e transformou o cômodo vago em um quarto de crianças, colocando ele mesmo o papel de parede, coberto de personagens de cantigas infantis, como Little Bo Peep, Humpty Dumpty e o Prato Fugindo com a Colher, que iam se repetindo e se repetindo.
Belinda chegou em casa vinda do hospital com a pequena Melanie em seu moisés, e a mãe de Belinda apareceu para ficar com eles uma semana, dormindo no sofá da sala de estar.
Foi no terceiro dia que Belinda abriu a caixa de arquivo para mostrar à mãe as lembranças do casamento e rememorar. Parecia que o casamento já tinha sido muito tempo atrás. Elas riram daquela coisa seca e marrom que fora uma rosa branca e tagarelaram sobre o menu e o convite. No fundo da caixa, havia um grande envelope marrom,
— O casamento de Gordon e Belinda — leu a mãe de Belinda.
— É uma descrição de nosso casamento — disse Belinda. — É muito meiga. Tem até mesmo um trecho sobre o show de slides do papai.
Belinda abriu o envelope e puxou a folha de papel amarelado. Ela leu o que estava datilografado e fez uma careta. Então, guardou-a sem dizer nada.
— Não posso ver, querida? — perguntou a mãe.
— Acho que é uma brincadeira do Gordon — disse Belinda. — E de mau gosto.
Naquela noite, Belinda estava sentada na cama amamentando Melanie quando disse a Gordon, que fitava sua esposa e a filhinha com um sorriso bobo na cara:
— Querido, por que você escreveu aquelas coisas?
— Que coisas?
— Na carta. Aquela do casamento. Você sabe.
— Não sei.
— Não foi engraçado.
Ele suspirou.
— Do que você está falando?
Belinda apontou para a caixa de arquivo, que havia trazido para cima e colocado sobre a penteadeira. Gordon abriu-a e puxou o envelope.
— Isto sempre esteve escrito no envelope? — perguntou. — Pensei que dizia algo sobre nosso o casamento.
Então, ele abriu e leu a folha de bordas puídas e sua testa franziu.
— Eu não escrevi isto.
Ele virou o papel, olhando o lado em branco como se esperasse ver algo mais escrito ali.
— Você não escreveu? — indagou ela. — Não escreveu mesmo?
Gordon balançou a cabeça. Belinda secou um resto de leite do queixo do bebê.
— Eu acredito em você — disse ela. — Pensei que tivesse escrito, mas não escreveu.
— Não.
— Deixe-me ver de novo — disse ela. Ele passou a folha. — Isto é muito estranho. Quer dizer, não é engraçado e nem mesmo verdadeiro.
Datilografada no papel, havia uma breve descrição dos dois últimos anos de Gordon e Belinda, que, de acordo com a folha, não foram felizes. Seis meses após o casamento, Belinda levara, de um pequinês, uma mordida na face, tão grave que teve de receber vários pontos. O resultado foi uma cicatriz muito feia. Pior do que isso, os nervos foram lesados, e ela começara a beber, talvez para aplacar a dor. A pobrezinha desconfiava que Gordon tivesse nojo de seu rosto, ao passo que o bebê, assim dizia a folha, fora uma tentativa desesperada de reaproximar o casal.
— Por que estão dizendo isso? — ela quis saber.
— Quem?
— Quem quer que tenha escrito esta coisa horrenda. — Correu o dedo pela face: não havia marca, nem cicatriz. Ela era uma jovem muito atraente, embora agora estivesse cansada e fragilizada.
— Como é que você sabe que se trata deles?
— Não sei — disse ela, mudando o bebê para o seio esquerdo. — Parece algo do tipo "foram eles...". Escrever isto, trocar o papel novo pelo velho e esperar até que um de nós lesse... Calma, Melanie, isso, lindinha...
— Jogo fora?
— Sim. Não. Não sei. Acho... — Ela acariciou a testa do bebê. — Guarde. Talvez precisemos disto como prova. Será que não é alguma coisa que o Al tramou.
Al era o irmão caçula de Gordon.
Gordon colocou o papel de volta no envelope e o depositou novamente na caixa de arquivo, que foi empurrada para baixo da cama e, mais ou menos, esquecida.
Nenhum dos dois dormiu muito nos meses seguintes, por causa das mamadas noturnas e do choro contínuo, pois Melanie era um bebê cheio de cólicas. A caixa de arquivo ficou debaixo da cama. Ofereceram um emprego a Gordon em Preston, algumas centenas de milhas ao norte e, como Belinda estava de licença do emprego e não tinha planos imediatos de voltar ao trabalho, achou a idéia muito convidativa. Então, eles se mudaram.
Encontraram uma casa avarandada, alta, velha e recuada, numa rua pavimentada com paralelepípedos. Belinda dava plantões de quando em quando na clínica veterinária local, cuidando de pequenos animais e bichos de estimação. Quando Melanie estava com dezoito meses, Belinda deu à luz um menino a quem chamaram de Kevin em homenagem ao falecido avô de Gordon.
Gordon foi promovido a sócio na firma de arquitetura. Quando Kevin foi para o jardim de infância, Belinda voltou a trabalhar.
A caixa de arquivo jamais foi perdida. Estava em um dos quartos vagos no andar de cima da casa, debaixo de uma pilha de exemplares da Gazeta do Arquiteto e da Revista Arquitetônica. De vez em quando, Belinda pensava na caixa e no que ela continha; e, numa noite em que Gordon estava fora, na Escócia, dando consultoria sobre a reforma de uma casa antiga, ela fez mais do que pensar.
As crianças estavam dormindo. Belinda subiu as escadas até a parte não mobiliada da casa, afastou as revistas e abriu a caixa, a qual (onde não tinha sido coberta por revistas) estava revestida por dois anos de poeira intocada. O envelope ainda dizia O casamento de Gordon e Belinda, e Belinda não sabia, sinceramente, se já houvera algo diferente escrito nele.
Ela tirou o papel do envelope e leu. Colocou-o de volta e sentou-se lá, na parte de cima da casa, sentindo-se mal e transtornada.
De acordo com a mensagem, caprichosamente datilografada, Kevin, seu segundo filho, ainda não havia nascido; o bebê tinha sido abortado aos cinco meses. Desde então, Belinda sofria de freqüentes ataques de depressão profunda. Raramente, Gordon vinha para casa, dizia o papel, pois estava tendo um caso desprezível com uma sócia sênior de sua firma, uma mulher notável, mas nervosa, dez anos mais velha do que ele. Belinda estava bebendo mais, e usando golas altas e cachecóis para esconder a cicatriz em forma de teia no seu rosto. Ela e Gordon pouco se falavam, exceto para brigar pelas diferenças pequenas e insignificantes daqueles que evitam os grandes conflitos, tendo consciência de que as únicas coisas que evitavam falar eram aquelas árduas demais para serem ditas sem que destruíssem suas vidas.
Belinda nada comentou com Gordon a respeito da última versão de O casamento de Gordon e Belinda. Entretanto, ele próprio a leu, ou mais ou menos isso, alguns meses depois, quando a mãe de Belinda adoeceu e Belinda foi para o sul por uma semana a fim de cuidar dela.
Na folha de papel que Gordon tirou do envelope, havia uma descrição do casamento semelhante àquela que Belinda lera, embora, agora, seu caso com a chefe houvesse acabado mal e seu emprego estivesse ameaçado.
Gordon gostava da chefe, mas jamais poderia se imaginar envolvido sentimentalmente com ela. Estava gostando do trabalho, embora quisesse algo que o desafiasse ainda mais.
A mãe de Belinda melhorou, e ela voltou para casa em uma semana. O marido e as crianças ficaram aliviados e adoraram revê-la.
Foi só na véspera de Natal que Gordon falou com Belinda sobre o envelope.
— Você deu uma olhada, não deu? — Eles haviam entrado sorrateiramente no quarto das crianças naquela noite e posto os presentes nas meias de Natal dependuradas. Gordon sentira-se eufórico enquanto andava pela casa e parava diante das camas das crianças, mas era uma euforia com um quê dê profunda tristeza: a de saber que tais momentos de alegria total não seriam duradouros; que ninguém podia parar o Tempo.
Belinda sabia do que se tratava.
— Sim — disse ela. — Eu li.
— O que você acha?
— Bom — disse ela —, não acho mais que seja uma piada. Nem mesmo uma piada de mau gosto.
— Mm — disse ele. — Então, o que é?
Sentaram-se na sala de estar da frente da casa, à meia-luz e com um nó de pinho ardendo no braseiro lançando luzes bruxuleantes, alaranjadas e amarelas, pela sala.
— Acho que é realmente um presente de casamento — comentou ela — É o casamento que nós não estamos tendo. As coisas ruins estão acontecendo lá, naquela página, não aqui, em nossas vidas. Em vez de vivê-las, estamos sabendo que poderia ter sido daquele jeito e também que jamais foi assim.
— Então, você está dizendo que é magia? — Ele não diria isto em voz alta, mas era véspera de Natal e havia pouca luz.
— Não acredito em magia — disse ela categórica. — É um presente de casamento. E acho que devemos guardá-lo com cuidado.
No dia 26 de dezembro, ela mudou o envelope da caixa de arquivo para a gaveta de jóias, que mantinha trancada, debaixo de seus colares e anéis, braceletes e broches.
A primavera tornou-se verão; o inverno, primavera.
Gordon estava exausto. Durante o dia, trabalhava para os clientes, fazendo projetos, encontrando-se com construtores e incorporadores; de noite, trabalhava para si mesmo até tarde, projetando museus, galerias e prédios públicos para concursos. Às vezes, seus projetos recebiam menções honrosas, e eram reproduzidos nas revistas de arquitetura.
Belinda estava trabalhando com animais maiores, coisa de que ela gostava, visitando fazendeiros, examinando e tratando de cavalos, carneiros e vacas. Às vezes, ela levava as crianças em suas visitas.
Seu celular tocou quando ela estava em um curral, tentando examinar uma cabra prenhe que, tal como se revelou, não tinha desejo algum de ser capturada, muito menos examinada. Ela saiu do campo de batalha, deixou a cabra, que a olhava furiosa, e atendeu ao telefone.
— Sim?
— Adivinhe...
— Oi, querido. Hm. Você ganhou na loteria?
— Não! Quase. Meu projeto para o Museu da Herança Britânica está na final. De qualquer forma, tenho alguns concorrentes duríssimos. Mas estou na final.
— Isso é maravilhoso!
— Conversei com a Sra. Fulbright e ela vai pegar a Sonja para ficar de babá hoje à noite. Vamos comemorar.
— Fantástico. Eu te amo — disse ela. — Agora, tenho de voltar para a cabra.
Eles tomaram muita champanhe em um requintado jantar de comemoração. Naquela noite no quarto, enquanto tirava seus brincos, Belinda disse:
— Vamos ver o que diz o presente de casamento?
Ele a olhou da cama com severidade. Estava só de meias.
— Não, acho que não. É uma noite especial. Por que estragá-la?
Ela colocou seus brincos na gaveta de jóias e a trancou. Então, tirou suas meias,
— Acho que você tem razão. De qualquer forma, posso imaginar o que diz. Sou uma bêbada e deprimida e você é um fracassado miserável. E enquanto isso... bem, na verdade eu estou meio alta, mas não é isso o que quero dizer. Fica lá, simplesmente, no fundo da gaveta, como O retrato de Dorian Gray fica no sótão.
— E foi só por causa dos seus brincos que eles conseguiram reconhecê-la. Sim. Eu me lembro. Eu li o livro na escola.
— É exatamente isso o que me assusta — disse ela, colocando uma camisola —, que aquela coisa no papel seja o verdadeiro retrato do nosso casamento, e o que estamos vivendo seja apenas um lindo quadro. Que aquilo seja real e nós não. Quer dizer — ela falava seriamente agora, com a austeridade de uma ligeira embriaguez —, você nunca pensou que é bom demais para ser verdade?
Ele fez um sinal afirmativo com a cabeça.
— Às vezes. Hoje à noite, com certeza. — Ela estremeceu.
— Talvez eu seja mesmo uma bêbada com uma mordida de cachorro na face, você trepa com qualquer coisa que se mexa, Kevin jamais nasceu e... e toda aquela coisa horrível.
Ele se levantou, caminhou até ela, colocou os braços ao seu redor.
— Mas não é verdade — salientou. — Isto é real. Você é real. Eu sou real. Aquela coisa do casamento é somente ficção. Apenas palavras. — E ele a beijou, a apertou forte, e pouco além disso foi dito naquela noite.
Passaram-se seis longos meses antes que o projeto de Gordon para o Museu da Herança Britânica fosse anunciado como vencedor, embora tivesse sido ridicularizado no The Times como "agressivamente moderno", em várias revistas de arquitetura como muito antiquado, e descrito por um dos juízes, em uma entrevista ao Sunday Telegraph, como "uma espécie de candidato conciliatório — a segunda opção de lodo mundo".
Eles se mudaram para Londres, alugando sua casa em Preston para um artista e sua família, pois Belinda não deixou Gordon vendê-la.
Gordon trabalhava intensamente, feliz, no projeto do museu. Kevin estava com seis anos e Melanie, com oito. A menina achava Londres ameaçadora, mas Kevin adorava. De início, ambos ficaram angustiados por terem perdido seus amigos e a escola. Belinda arranjou um emprego de meio período numa pequena clínica em Camden, trabalhando três tardes por semana. Ela sentia falta das suas vacas.
Os dias em Londres viraram meses e então anos, e, a despeito de problemas orçamentários ocasionais, Gordon estava cada vez mais animado. Aproximava-se o dia em que o primeiro terreno seria remexido para a construção do museu.
Certa noite, Belinda acordou de madrugada, e fitou seu marido dormindo sob a iluminação amarelada das lâmpadas de sódio do poste de rua, além da janela do seu quarto. As entradas na testa dele acentuavam-se e o cabelo na parte de trás rareava. Belinda perguntou-se como seria quando estivesse casada com um homem calvo. Concluiu que seria o mesmo de sempre. A maior parte do tempo, feliz. A maior parte do tempo, bom.
Perguntou-se o que estaria acontecendo com os "eles" do envelope. Podia sentir sua presença, ressequido e meditativo, no canto de seu quarto, seguramente trancado longe de qualquer mal. Repentinamente, ela sentiu pena do Gordon e da Belinda aprisionados no envelope, no seu pedaço de papel, detestando-se mutuamente e tudo o mais.
Gordon começou a roncar. Ela o beijou delicadamente, no rosto, e disse:
— Shhh. — Ele se mexeu e ficou quieto, mas não acordou. Ela se aninhou a ele e logo adormeceu.
No dia seguinte, após o almoço, enquanto conversava com um importador de mármore da Toscana, Gordon viu-se tomado pela surpresa, levou a mão ao peito e disse:
— De repente, fiquei tão triste! — E então seus joelhos cederam e ele foi ao chão. Chamaram uma ambulância, mas Gordon já estava morto quando ela chegou. Tinha trinta e seis anos de idade.
Na investigação, o médico-legista declarou que a autópsia revelara que o coração de Gordon era fraco de nascença. Poderia ter parado a qualquer hora.
Nos três primeiros dias depois de sua morte, Belinda não sentiu nada, um profundo e terrível nada. Ela consolou as crianças, conversou com seus amigos e os amigos de Gordon, com sua família e com a família de Gordon, aceitando gentil e elegantemente suas condolências, como se aceitam presentes não pedidos. Ouviu as pessoas chorando por Gordon, o que ela própria ainda não tinha feito. Disse as coisas apropriadas e não sentiu absolutamente nada.
Melanie, que tinha onze anos, parecia estar lidando bem com a situação. Kevin abandonou seus livros e jogos de computador e sentou-se em sua cama, olhando fixamente pela janela, sem querer conversar.
No dia seguinte ao enterro, seus pais voltaram para o interior, levando ambas as crianças consigo, mas Belinda recusou-se a ir. Havia, disse ela, muito a fazer.
No quarto dia após o enterro, ela estava arrumando a cama de casal, que ela e Gordon tinham compartilhado, quando começou a chorar, os suspiros vindo em horríveis espasmos de pesar, lágrimas caíam do seu rosto na colcha e uma coriza clara escorria de seu nariz. Ela se sentou, de repente, no chão, como uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas, e chorou por quase uma hora, pois sabia que jamais o veria de novo.
Enxugou, então, o rosto e destrancou a gaveta de jóias, tirou o envelope e o abriu. Puxou a folha amarelada de papel e correu os olhos pelas palavras caprichosamente datilografadas. A Belinda do papel, bêbada, havia trombado o carro e estava a ponto de perder sua carteira de motorista. Ela e Gordon não se falavam havia dias. Ele perdera seu emprego quase dezoito meses antes e agora passava a maior parte do tempo sentado num ou noutro canto da casa em Salford. O emprego de Belinda rendia o dinheiro do qual dispunham. Melanie estava fora de controle: Belinda, ao limpar o quarto da menina, havia encontrado um esconderijo com notas de cinco e dez libras. Melanie, que não dera explicações sobre como uma garota de onze anos arranjara tanto dinheiro, ao ser questionada, simplesmente retirou-se para o seu quarto, olhando furiosamente para eles, sem dizer palavra. Nem Gordon, nem Belinda investigaram mais a fundo com medo do que poderiam descobrir. A casa em Salford era encardida e úmida, tanto que o gesso estava caindo do teto em grandes pedaços que se esfarelavam, e os três tinham contraído tosses bronquiais horríveis.
Belinda sentiu pena deles.
Ela colocou o papel de volta no envelope. Perguntava-se como seria odiar Gordon, fazer com que ele a odiasse. Imaginava como seria não ter Kevin em sua vida, não ver seus desenhos de aviões ou ouvir suas versões tremendamente desafinadas das canções populares. Ela se perguntava onde a Melanie — a outra Melanie, não a sua Melanie, mas a Melanie que-estava-lá-pela-graça-de-Deus — poderia ter arranjado aquele dinheiro e ficou aliviada porque a sua própria Melanie parecia ter poucos interesses além de balé e dos livros de Enid Blyton.
Ela sentia tanta falta de Gordon. Era como se uma coisa afiada estivesse sendo martelada em seu peito, um cravo talvez, ou uma farpa de gelo feita de frio e solidão. Tinha também a consciência de que jamais o veria novamente neste mundo.
Ela levou, então, o envelope para baixo, para a sala de estar, onde a brasa de carvão queimava na lareira, porque Gordon amara o fogo. Ele dizia que dava vida à sala, Ela não gostava do fogo de carvão, mas o havia acendido aquela noite por rotina e por hábito e porque, se não o acendesse, seria admitir para si mesma, de modo absoluto, que ele jamais voltaria para casa.
Belinda fitou o fogo por algum tempo, pensando sobre o que possuía na vida e sobre o que tinha abandonado; e se seria pior amar alguém que já não estava lá, ou não amar alguém que estava.
E, no final, quase negligentemente, ela arremessou o envelope sobre as brasas, e o observou curvar-se, enegrecer e pegar fogo, vendo as chamas amarelas dançarem por entre as azuis.
Logo, o presente de casamento não era nada senão flocos negros de cinzas que bailavam sobre o ar quente e eram levadas, tal como uma carta de criança para o Papai Noel, pela chaminé acima e para fora, noite adentro.
Belinda recostou-se em sua cadeira, fechou os olhos e esperou que a cicatriz aflorasse em seu rosto.
E esta é a história que não escrevi para o casamento dos meus amigos. Apesar de, claro, não ser a história que não escrevi, ou nem mesmo a história que planejei escrever quando a comecei algumas páginas atrás. A história que planejei escrever era muito mais curta, muito mais parecida com uma fábula, e não terminava assim (não me lembro mais como ela acabava originalmente. Havia algum tipo de final, mas uma vez começada, o final real tornou-se inevitável).
Muitas das histórias deste livro têm isso em comum: o lugar a que chegam no final não era o lugar que eu esperava que fossem chegar quando as planejei. Algumas vezes, a única maneira de saber que uma história tinha acabado era quando não havia mais palavras a serem escritas.
CAVALARIA
A Sra. Whitaker encontrou o Santo Graal; estava debaixo de um casaco de pele.
Toda quinta-feira à tarde, a Sra. Whitaker caminhava até a agência do correio para receber sua pensão, embora suas pernas não fossem mais as mesmas, e, no caminho de volta, costumava parar na Loja Oxfam e comprar alguma coisinha para si.
A Loja Oxfam vendia roupas usadas, quinquilharias, retalhos, bugigangas e uma grande quantidade de brochuras, tudo doado; despojos de segunda mão vindos, quase sempre, da faxina da casa de mortos. Todos os lucros iam para instituições de caridade.
A loja era administrada por voluntários. A voluntária de serviço naquela tarde era Marie, dezessete anos, um pouco acima do peso, vestindo um largo blusão cor de malva que parecia ter sido comprado na loja.
Marie estava sentada no caixa com um exemplar da revista Mulher Moderna, preenchendo um questionário "Revele Sua Personalidade Escondida". De vez em quando, ela dava uma olhada no final da revista e verificava os pontos dados à resposta A., B. ou C. antes de se decidir sobre como responder aquela pergunta.
A Sra. Whitaker andava indolentemente pela loja.
Ela notou que ainda não tinham vendido a naja empalhada. Já estava lá havia seis meses juntando poeira; seus olhos de vidro fitando malignamente os cabides de roupas e a estante repleta de porcelana lascada e de brinquedos mastigados.
A Sra. Whitaker acariciou sua cabeça quando passou por ela.
Ela pegou dois romances da Mills & Boon da prateleira — Sua alma trovejante e Seu coração turbulento, um xelim cada — e considerou cuidadosamente comprar a garrafa vazia de Mateus Rosé com uma cúpula de abajur decorativa antes de resolver que não tinha nenhum lugar para colocá-la. Pôs de lado um casaco de pele puído que recendia a naftalina. Debaixo dele, havia uma bengala e um exemplar manchado de água do Romance e lenda da cavalaria de A. R. Hope Moncrieff, que custava cinco pence. Próximo do livro, ao seu lado, estava o Santo Graal. Ele tinha uma pequena etiqueta redonda de papel na sua base, onde estava escrito, com caneta hidrocor, o preço: 30p.
A Sra. Whitaker pegou a empoeirada taça prateada e a avaliou através das grossas lentes dos seus óculos.
— Isto é de bom gosto — comentou com Marie, que, por sua vez, deu de ombros. — Vai ficar simpático no meu consolo de lareira.
Marie deu de ombros novamente.
A Sra. Whitaker deu 50 pence a Marie, que lhe devolveu 10 pence de troco e um saco de papel marrom para colocar os livros e o Santo Graal. Então, ela foi até o açougue, vizinho à loja, e comprou um belo pedaço de fígado. Daí, foi para casa.
A parle de dentro da taça estava coberta de uma densa poeira marrom-avermelhada. A Sra. Whitaker lavou-a com muito cuidado e a deixou de molho em água morna com uma pitada de vinagre por uma hora. Então, poliu-a com lustrador de metais até ficar brilhando e a colocou no consolo da lareira em sua sala de estar, onde ficou ao lado de um comovente cãozinho basset chinês e uma fotografia do seu finado marido, Henry, na praia em Frinton, em 1953.
Ela tinha razão: ficou muito simpático.
No jantar daquela noite, ela comeu o fígado frito com pedacinhos de pão e cebola. Estava muito bom.
O dia seguinte era sexta-feira. Em sextas-feiras alternadas, a Sra. Whitaker e a Sra. Greenberg visitavam-se. Hoje era a vez de a Sra. Greenberg Visitar a Sra. Whitaker. Sentaram-se na sala de estar e comeram biscoito de amêndoas e tomaram chá. A Sra, Whitaker pôs um torrão de açúcar no seu chá, mas a Sra. Greenberg usou adoçante, que ela sempre trazia na bolsa, numa caixinha de plástico.
— Aquilo ali é bonito — disse a Sra. Greenberg, apontando o Cálice, — O que é?
— É o Santo Graal — disse a Senhora Whitaker. — É o cálice do qual Jesus bebeu na Última Ceia. Depois, na Crucificação, ele recolheu Seu precioso sangue quando a lança do centurião perfurou Seu flanco.
A Sra. Greenberg fungou. Ela era pequena e judia e não aprovava coisas anti-higiênicas.
— Eu não sabia disso — disse ela —, mas é muito bonito. Nosso Myron ganhou um igualzinho quando venceu o torneio de natação, só que tinha o seu nome na lateral.
— Ele ainda está com aquela moça simpática? A cabeleireira?
— Bernice? Ah, sim. Estão até pensando em ficar noivos — disse a Sra. Greennberg.
— Que bom — disse a Sra. Whitaker e pegou outro biscoito de amêndoa.
A Sra. Greenberg fazia seus próprios biscoitos de amêndoa e os trazia toda sexta-feira alternada: pequenos biscoitos doces, marrom-claros com uma amêndoa em cima.
Falaram sobre Myron e Bernice, sobre o sobrinho da Sra. Whitaker, Ronald (ela não tinha tido filhos), e sobre a amiga de ambas, a Sra. Perkins, que estava no hospital descadeirada, coitadinha.
Ao meio-dia, a Sra. Greenberg foi para casa, e a Sra. Whitaker fez torradas com queijo para o almoço e, depois de comer, tomou suas pílulas: a branca, a vermelha e duas pequenas cor de laranja.
A campainha tocou.
A Sra. Whitaker atendeu. Era um jovem com cabelo pela altura do ombro, tão loiro que era quase branco, vestindo uma brilhante armadura prateada e uma sobreveste alva.
— Olá — disse ele.
— Olá — respondeu a Sra. Whitaker.
— Estou a procurar.
— Isso é bom — disse a Sra. Whitaker um tanto evasiva.
— Posso entrar? — perguntou.
A Sra. Whitaker meneou a cabeça negativamente.
— Sinto muito, creio que não — disse ela.
— Estou a procurar o Santo Graal — esclareceu o jovem. — Ele está aqui?
— Você tem alguma identificação? — indagou a Sra. Whitaker. Ela sabia que não era prudente deixar estranhos não identificados entrarem em sua casa quando se tem idade e se vive só. Bolsas são esvaziadas e podem acontecer coisas ainda piores.
O jovem voltou até o jardim da entrada. Seu cavalo, um enorme tordilho de assalto, tão grande quanto um percheron, de cabeça alta e olhos inteligentes, estava amarrado no portão do jardim da Sra. Whitaker. O cavaleiro remexeu no alforje e voltou com um rolo de pergaminho. Estava assinado pelo rei Artur, rei de todos os bretões, e exortava todas as pessoas de qualquer condição ou posição social a saber que ali estava Galaad, Cavaleiro da Távola Redonda, e que ele estava numa Busca Justa, Altiva e Nobre. Havia um desenho do rapaz debaixo do texto. A semelhança não era pequena.
A Sra. Whitaker assentiu com a cabeça. Ela estava esperando um cartãozinho com uma fotografia, mas aquilo era muito mais impressionante.
— Creio que seja melhor você entrar — disse ela.
Foram, então, para a cozinha, Ela preparou uma xícara de chã para Galaad e, depois, levou-o para a sala de estar.
Galaad viu o Cálice no consolo da lareira e se ajoelhou sobre uma perna. Colocou cuidadosamente a xícara no tapete castanho avermelhado. Uma haste de luz entrou através da cortina de filó e pintou seu rosto, pleno de reverência, com o dourado do sol, transformando seu cabelo num halo de prata.
— É verdadeiramente o Santo Graal — disse ele muito pausadamente. Piscou os olhos claros três vezes, bem rápido, como que para reter as lágrimas, e baixou a cabeça como se estivesse orando em silêncio.
Galaad levantou-se novamente e se dirigiu à Sra. Whitaker:
— Bondosa dama, Guardiã do Mais Sagrado dos Sagrados, permite-me deixar este lugar com o Cálice Abençoado, findando assim minha jornada e cumprindo minha missão.
— Como? — disse a Sra. Whitaker.
Galaad caminhou até ela e colocou suas velhas mãos nas suas:
— Minha busca terminou — explicou. — O Cálice Sagrado está finalmente ao meu alcance.
A Sra. Whitaker franziu os lábios:
— Você pode pegar a xícara e o pires do chão, por favor? — disse ela. Galaad recolheu a porcelana caída, desculpando-se.
— Não, acho que não — disse a Sra. Whitaker. — Gosto dele onde está, entre o cachorro e a fotografia do meu Henry.
— É ouro que tu queres? É isso? Posso trazer-te ouro...
— Não — disse a Sra. Whitaker. — Não quero ouro algum, obrigada. Simplesmente não estou interessada.
Ela acompanhou Galaad até a porta da frente.
— Prazer em conhecê-lo — disse ela.
O cavalo do jovem estava com a cabeça inclinada sobre a cerca do jardim, mordiscando as palmas-de-santa-rita da senhora. Algumas crianças da vizinhança observavam-no da calçada.
Galaad pegou alguns torrões de açúcar do alforje e mostrou às crianças mais corajosas como alimentar o cavalo, com as mãos espalmadas para oferecer o açúcar. As crianças riram. Uma das meninas mais velhas acariciou o focinho do animal.
Galaad saltou sobre a sela num movimento fluídico. Então, cavalo e cavaleiro afastaram-se a trote, descendo a Rua Hawthorne Crescent.
A Sra. Whitaker observou-os até sumirem de vista, deu um suspiro e voltou para casa.
O fim de semana foi tranqüilo.
No sábado, ela foi de ônibus até Maresfield visitar seu sobrinho Ronald, sua esposa Euphonia e as filhas deles, Clarissa e Dillian. Levou-lhes um bolo de groselha que ela mesma havia preparado.
No domingo de manhã, a Sra. Whitaker foi à igreja. Sua paróquia era a de São Jaime Menor, que era um pouco "não pense nela como uma igreja, mas como um lugar onde pessoas com as mesmas idéias se encontram e são felizes" demais para que a Sra. Whitaker se sentisse completamente à vontade, mas gostava do vigário, o Reverendo Bartholomew, desde que ele não cismasse de tocar violão.
Após o serviço, pensou em contar-lhe que ela possuía o Santo Graal na sua sala de estar, mas resolveu não dizer nada.
Na segunda-feira de manhã, a Sra. Whitaker estava trabalhando no jardim dos fundos. Ela tinha uma pequena horta de ervas da qual muito se orgulhava: endro, verbena, hortelã, alecrim, tomilho e um grande canteiro com salsa.
Ela estava ajoelhada, calçando grossas luvas verdes de jardinagem, arrancando ervas daninhas e pegando lesmas, as quais colocava num saco plástico. A Sra. Whitaker era muito compassiva quando se tratava de lesmas. Costumava levá-las até a parte de trás da sua horta, que fazia divisa com a linha do trem, e as jogava por cima da cerca.
Ela colheu um pouco de salsa para a salada. Ouviu, então, alguém tossir às suas costas. Galaad estava lá, de pé, alto e belo, sua armadura brilhando no sol da manhã. Segurava em seus braços um embrulho comprido, envolto em couro untado com óleo.
— Estou de volta — disse ele.
— Bom — respondeu ela, erguendo-se com certa lentidão —, já que está aqui, você bem que podia me ajudar.
Ela lhe deu o saco cheio de lesmas e disse-lhe que as jogasse atrás da cerca. Ele as jogou. Depois, foram para a cozinha.
— Chá ou limonada? — perguntou ela.
— O que quer que tu estiveres tomando — disse Galaad.
A Sra. Whitaker pegou uma jarra da sua limonada caseira da geladeira e mandou Galaad ir buscar um ramo de hortelã no quintal. Escolheu dois copos longos, lavou a hortelã cuidadosamente e colocou algumas folhas em cada recipiente. Então, serviu a limonada.
— Seu cavalo está lá fora? — perguntou ela.
— Sim, seu nome é Grizzel.
— E suponho que você tenha feito uma longa viagem.
— Sim, muito longa.
— Sei — disse a Sra. Whitaker. Ela pegou uma vasilha de plástico azul debaixo da pia e a encheu de água até a metade. Galaad levou-a para fora, até Grizzel. Ele esperou enquanto o cavalo bebia e trouxe a vasilha vazia de volta à Sra. Whitaker.
— Bom — disse ela —, suponho que você ainda esteja a procura do Graal.
— Deveras, ainda estou a procurar o Cálice Sagrado — disse ele. Pegou o embrulho de couro do chão, colocou-o sobre a toalha de mesa e o desembrulhou. — Por ele, ofereço-te isto.
— É muito linda — disse a Sra. Whitaker ambíguamente.
— Esta — disse Galaad — é a espada Balmung, forjada por Wayland, o Ferreiro, no amanhecer dos tempos. Sua gêmea é Flamberge. Quem a possui não pode ser conquistado na guerra e é invencível em batalha. Quem a empunha é incapaz de atos covardes ou ignóbeis. No botão do seu punho, está colocada a sardônica Bircone, que protege o dono de veneno derramado no vinho, ou na cerveja, e da traição de amigos.
A Sra. Whitaker examinou a espada,
— Deve ser muito afiada — disse ela depois de um tempo.
— É capaz de cortar em dois um fio de cabelo que está a cair. Na verdade, poderia cortar um raio de sol — proferiu Galaad orgulhoso.
— Bom, então talvez você devesse guardá-la — disse a Sra. Whitaker.
— Tu não a queres? — Galaad parecia desapontado.
— Não, obrigada — disse a Sra. Whitaker. Ocorreu-lhe que o seu finado marido, Henry, teria gostado muito dela. Ele a penduraria na parede do seu estúdio ao lado da carpa empalhada que havia pescado na Escócia e a mostraria às visitas.
Galaad enrolou o couro untado com óleo ao redor da espada Balmung e o amarrou com uma corda branca.
E ficou sentado lá, desconsolado.
A Sra. Whitaker fez sanduíches de requeijão com pepino para ele levar na sua jornada de volta e os embrulhou em papel à prova de gordura. Deu-lhe também uma maçã para Grizzel. Ele deu a impressão de estar muito agradecido com as duas oferendas.
Ela se despediu deles com acenos.
Naquela tarde, foi de ônibus ao hospital ver a Sra. Perkins, que ainda estava descadeirada, coitada. A Sra. Whitaker levou-lhe bolo de frutas caseiro, apesar de ter deixado de lado as amêndoas da receita, pois os dentes da Sra. Perkins não eram mais o que costumavam ser.
Assistiu a um pouco de televisão aquela noite e foi cedo para a cama.
Na terça-feira, o carteiro tocou a campainha. A Sra. Whitaker estava em cima, no quarto de despejo, fazendo faxina e, descendo cada degrau vagarosa e cuidadosamente, não chegou em baixo a tempo. O carteiro tinha deixado uma mensagem dizendo que tentara entregar um pacote, mas não havia ninguém em casa.
A Sra. Whitaker suspirou.
Ela colocou a mensagem na sua bolsa e foi até o correio,
O pacote era da sua sobrinha Shirelle, de Sidnei, Austrália. Continha fotografias do marido dela, Wallace e das duas filhas, Dixie e Violet, e uma concha enrolada em lã de algodão.
A Sra. Whitaker tinha várias conchas ornamentais no seu quarto. A sua preferida tinha uma vista das Bahamas pintada em esmalte. Era um presente da sua irmã, Ethel, que morrera em 1983.
Colocou as fotografias e a concha na sua sacola de compras. Então, aproveitando que estava naquela área, parou na Loja Oxfam a caminho de casa.
— Oi, Sra. W. — disse Marie.
A Sra. Whitaker fitou-a. Marie estava usando batom (provavelmente não o melhor tom para ela, nem particularmente bem aplicado, mas, pensou a Sra. Whitaker, isso viria com o tempo) e uma saia bem elegante. Era, sem dúvida, um grande progresso.
— Olá, querida — disse a Sra. Whitaker.
— Um homem veio aqui a semana passada, perguntando sobre aquela coisa que a senhora comprou. Aquela pequena taça de metal. Eu lhe disse onde achá-la. A senhora não se importou, né?
— Não, querida — disse a Sra. Whitaker. — Ele me encontrou.
— Ele era mesmo um sonho. Um sonho de verdade — suspirou Marie, tristonha. — Eu poderia fazer qualquer coisa por ele. E tinha um cavalo grande e tudo o mais — concluiu Marie. Ela estava de pé com as costas retas, notou a Sra. Whitaker, aprovando.
Na estante, a Sra. Whitaker encontrou um novo romance da Mills & Boon — Sua paixão majestosa — apesar de não ter acabado de ler os dois que ela comprara na sua última visita.
Pegou o exemplar do Romance e lenda da cavalaria e abriu. Cheirava a mofo. No alto da primeira página, estava caprichosamente escrito à mão com tinta vermelha EX LIBRIS FISHER.
Ela o colocou de volta onde o tinha encontrado.
Quando chegou em casa, Galaad a estava esperando. Ele dava voltas em Grizzel com as crianças da vizinhança na garupa, rua acima e abaixo.
— Estou feliz que você esteja aqui — disse ela. — Tenho algumas malas que preciso mudar de lugar.
Ela o levou ao quarto de despejo, no alto da casa. Ele tirou todas as velhas malas, assim a senhora conseguiu alcançar o guarda-louças que jazia no fundo. Estava tudo muito empoeirado. Ela o manteve lá em cima a maior parte da tarde, tirando coisas do lugar, enquanto espanava o pó.
Galaad tinha um corte no rosto e um dos seus braços estava um pouco teso.
Conversaram um pouco enquanto ela tirava o pó e faxinava. A Sra. Whitaker contou-lhe sobre seu finado marido, Henry; sobre como o seguro de vida tinha pago o saldo da casa; sobre como tinha conseguido todas aquelas coisas, mas não tinha ninguém para deixá-las, ninguém exceto Ronald, cuja esposa só gostava de coisas modernas. Contou como conhecera Henry durante a guerra, quando ele estava no ARP e ela não tinha fechado as cortinas de defesa antiaérea da cozinha; sobre os bailes de seis pence a que iam na cidade; sobre a mudança do casal para Londres quando a guerra acabou e onde ela bebera vinho pela primeira vez.
Galaad contou à Sra. Whitaker sobre sua mãe, Elaine, que era leviana e não tão boa quanto deveria ter sido e alguma coisa sobre uma bruxa a expulsar; sobre seu avô, o Rei Pelles, que era bem-intencionado, mas um tanto confuso; sobre sua adolescência no Castelo de Bliant, na Ilha Jubilosa; sobre seu pai, a quem ele conhecia como "Le Chevalier Mal Fet", que, em maior ou menor grau, era completamente louco e que, na verdade, era Lancelot du Lac, o maior de todos os cavaleiros, disfarçado e destituído de suas faculdades mentais; e sobre seus dias como um jovem escudeiro em Camelot.
Às cinco horas, a Sra. Whitaker examinou o quarto de despejo e decidiu que estava como queria. Então, ela abriu a janela do quarto para arejar e eles desceram para a cozinha, onde pôs água numa chaleira para ferver.
Galaad sentou-se à mesa da cozinha. Abriu a algibeira de couro que trazia na cintura e tirou de dentro uma pedra redonda e branca. Era mais ou menos do tamanho de uma bola de críquete.
— Minha dama — disse ele —, isto é para ti em troca do Cálice.
A Sra. Whitaker pegou a pedra, que era mais pesada do que parecia, e a colocou contra a luz. Era de uma cor láctea translúcida e, por dentro, salpicada de prata rutilante; ela lampejava na luz do sol de fim de tarde. Era quente ao toque.
Então, enquanto a segurava, uma estranha sensação subiu pelo seu corpo — lá no fundo, sentiu calma e paz. Serenidade, era esta a palavra para a sensação. Sentiu-se serena. Relutantemente, colocou a pedra sobre a mesa.
— É muito bonita — disse.
— Esta é a Pedra Filosofal, que o nosso antepassado Noé pendurou na Arca para que houvesse luz, quando luz não havia. Pode transformar metais não-preciosos em ouro e certamente possui outras propriedades — Gaalad narrou orgulhoso. — E não é tudo. Veja. — Ele tirou um ovo da bolsa de couro e lhe deu.
Era do tamanho de um ovo de ganso, de uma cor negra brilhante, mosqueado de escarlate e branco. Quando a Sra. Whitaker o tocou, o cabelo da sua nuca se eriçou. Sua primeira impressão foi de um calor e de uma liberdade inacreditáveis. Ela ouviu o estalar de fogueiras distantes e, por uma fração de segundo, pareceu se sentir muito acima do mundo, precipitando-se e mergulhando com asas de chama. Ela colocou o ovo na mesa, ao lado da Pedra Filosofal.
— Este é o ovo da Fênix — disse Galaad. — Vem da distante Arábia. Um dia, eclodirá no próprio Pássaro Fênix; e, quando isso acontecer, a ave fará um ninho de fogo, botará seu ovo e morrerá para renascer das chamas, numa era posterior deste mundo.
— Achei que fosse isso — disse a Sra. Whitaker.
— E, por último, senhora — anunciou Galaad —, trouxe-lhe isto.
Ele tirou algo da bolsa e lhe deu. Era uma maçã, aparentemente esculpida de um único rubi, num pedúnculo de âmbar.
Um pouco tensa, ela a pegou. Era macia de se tocar — enganosamente —, seu dedos a machucaram e um suco cor de rubi escorreu da maçã pela mão da Sra. Whitaker.
A cozinha encheu-se — quase imperceptível e magicamente — do aroma de frutas do verão, de framboesas, pêssegos, morangos e groselhas. De um lugar muito longe, ela ouviu vozes distantes que se elevavam no ar em canções e músicas longínquas.
— É uma das maças das Espérides — disse Galaad em voz serena. — Uma mordida cura qualquer doença ou ferida, não importa a gravidade. Uma segunda restaura a beleza e a juventude; e uma terceira concede a vida eterna.
A Sra. Whitaker lambeu o líquido viscoso da sua mão. Tinha gosto de vinho refinado.
Então, súbito, tudo voltou a ela — como era ser jovem: ter um corpo firme e esbelto que faria tudo o que desejasse; descer correndo uma alameda campestre pela simples alegria de correr como uma menina mal-comportada; de ter homens lhe sorrindo apenas por ser ela mesma e estar feliz por isso.
A Sra. Whitaker olhou para Sir Galaad, o mais gracioso entre todos os cavaleiros, sentado belo e nobre na sua pequena cozinha.
Ela prendeu a respiração.
— E isto é tudo o que eu te trouxe — disse Galaad. Também não foi fácil consegui-los.
A Sra. Whitaker colocou a fruta de rubi sobre a mesa da cozinha. Ela olhou a Pedra Filosofal, o Ovo da Fênix e a Maçã da Vida. Então, foi para a sala de estar e olhou o consolo da lareira — o cãozinho basset chinês, o Santo Graal e a fotografia em preto branco do seu finado marido, Henry, sem camisa, sorrindo e tomando um sorvete, quase quarenta anos antes.
Ela voltou para a cozinha. A chaleira tinha começado a apitar. Pôs um pouco de água fervente no bule de chá, fê-la girar lá dentro e jogou-a fora. Depois colocou três colheres cheias de chá no bule e o resto da água. Fez tudo isso em silêncio.
Então voltou-se para Galaad e olhou para ele.
— Guarde essa maçã — disse a Galaad com firmeza. — Você não deveria oferecer uma coisa dessas a senhoras de idade. Não é adequado.
Ela fez uma pausa.
— Mas ficarei com os outros dois — prosseguiu após um momento de reflexão. — Eles ficarão bem no consolo da lareira. E dois por um é justo, ou eu não sei o que é ser justo.
Galaad sorriu exultante. Ele colocou a maçã de rubi na sua algibeira de couro. Dai, ajoelhou-se e beijou a mão da Sra. Whitaker.
— Pare com isso — disse a Sra. Whitaker. Ela serviu duas xícaras de chá, retiradas da sua melhor porcelana chinesa, usada só em ocasiões especiais.
Eles se sentaram e tomaram o chá em silêncio.
Quando acabaram, foram até a sala de estar.
Galaad fez o sinal-da-cruz e pegou o Graal.
A Sra. Whitaker arrumou o Ovo e a Pedra onde o Graal tinha estado. O Ovo ficava caindo para um lado, e ela o apoiou no cachorrinho de porcelana chinesa.
— Ficou muito bom — disse a Sra. Whitaker.
— Sim — concordou Galaad, — Ficou muito bom.
— Posso dar alguma coisa para você comer antes de partir? — perguntou ela.
Ele fez que não, com a cabeça,
— Um bolo de frutas — disse ela. — Pode ser que você não queira agora, mas vai me agradecer daqui a algumas horas. E talvez seja melhor ir ao banheiro. Agora, dê-me isso aí que eu embrulho.
Disse-lhe onde era o pequeno toalete, no fim do corredor, e foi até a cozinha, com o Graal. Ela tinha algum papel de embrulho de Natal na despensa e embrulhou o Cálice nele, amarrando o pacote com barbante. Então, cortou um grande pedaço de bolo de frutas e o colocou num saco de papel marrom, junto com uma banana e um pedaço de queijo fundido, enrolado em papel alumínio.
Galaad voltou do banheiro. Ela lhe deu o saco de papel e o Santo Graal. Daí, ficou nas pontas dos pés e o beijou no rosto.
— Você é um bom moço — disse ela. — Cuide-se.
Ele a abraçou e ela o enxotou para fora da cozinha até a porta dos fundos e a fechou atrás dele. Em seguida, serviu-se de outra xícara de chá e chorou mansamente num Kleenex, enquanto ouvia o som dos cascos ecoando pela Hawthorne Crescent.
Na quarta-feira, a Sra. Whitaker ficou em casa o dia inteiro.
Na quinta-feira, foi até a agência do correio receber sua pensão. Depois, parou na Loja Oxfam.
A mulher no caixa era outra, que ela não conhecia.
— Onde está a Marie? — perguntou a Sra. Whitaker.
A mulher do caixa, que tinha cabelos grisalhos azulados de tintura e usava óculos de aro de ouro, sacudiu a cabeça e deu de omhros.
— Foi embora com um jovem — disse —, a cavalo. Tsc, tsc. Veja só. Era para eu estar na loja Heathfield esta tarde. Tive de pedir ao meu Johnny para me trazer aqui, enquanto procuramos outra pessoa.
— Ah — disse a Sra. Whitaker. — Bem, que bom que ela encontrou um rapaz para si.
— Talvez seja bom para ela — disse a senhora do caixa. — Mas era para alguém estar na Heathfield esta tarde.
Na prateleira dos fundos da loja, a Sra. Whitaker encontrou um velho recipiente de prata sem lustro, com um bico comprido. Custava 60 pence, de acordo com a pequena etiqueta de papel colada ao lado. Parecia um pouco com um bule de chá comprido e achatado.
Ela apanhou um romance da Mills & Boon que ainda não tinha lido. Chamava-se Seu amor singular. Levou o livro e o recipiente de prata até a mulher do caixa.
— Sessenta e cinco pence, querida — disse a mulher pegando o objeto de prata e observando-o, — Velharia curiosa, não? Chegou esta manhã. — Havia uma inscrição entalhada do lado em letras chinesas e uma elegante alça em forma de arco, — Algum tipo de lata de óleo, suponho.
— Não, não é uma lata de óleo — disse a Sra. Whitaker, que sabia exatamente o que era. — É uma lâmpada.
Havia um pequeno anel de metal, sem ornamentos, amarrado na alça com barbante marrom.
— Na verdade — disse a Sra. Whitaker —, pensando bem, acho que vou comprar só o livro.
Ela pagou os cinco pence pelo romance e colocou a lâmpada de volta onde a tinha achado, nos fundos da loja. Afinal de contas, pensou a Sra. Whitaker enquanto voltava a pé para casa, não havia mesmo onde colocar aquela lâmpada.
NICHOLAS ERA...
mais velho que o pecado e sua barba não podia ficar mais branca. Ele queria morrer.
Os anões nativos das cavernas do Ártico não falavam sua língua, mas chilreavam na deles e realizavam rituais incompreensíveis quando não estavam trabalhando nas fábricas.
Uma vez por ano, forçavam-no, aos prantos e sob protestos, pela Noite Sem Fim. Durante a jornada, permaneceria ao lado de cada criança do mundo, deixando um dos presentes invisíveis dos anões ao pé da cama.
As crianças dormiam, congeladas no tempo.
Ele invejava Prometeu e Loki, Sísifo e Judas. Seu castigo era mais sombrio.
Ho, Ho, Ho.
O PREÇO
Andarilhos e vagabundos têm marcas que fazem nos mourões, árvores e portas para informar aos da sua laia um pouco sobre as pessoas que vivem nas casas e fazendas por onde passam em suas viagens. Acho que os gatos devem deixar sinais semelhantes. De que outra forma explicar os gatos que aparecem na nossa porta no decorrer do ano, famintos, infestados de pulgas e abandonados?
Nós os acolhemos, os livramos das pulgas e dos carrapatos, os alimentamos e os levamos ao veterinário. Pagamos para que eles sejam cuidados e, afronta das afrontas, para que sejam castrados ou tenham seus ovários retirados.
E então ficam conosco: por alguns meses, por um ano ou para sempre.
A maioria deles chega no verão. Nós moramos no campo, longe da cidade, na distância exata para que seus moradores abandonem seus gatos perto de nós.
Acho que nunca tivemos mais de oito gatos; raramente temos menos de três. No momento, a população felina da minha casa é a seguinte: Hermione e Vagem, malhada e preta, respectivamente, as irmãs malucas que vivem no meu escritório do sótão e não se misturam; Floco de Neve, a gata de olhos azuis e pêlo branco e comprido que viveu livre no mato por anos até trocar seus modos selvagens por camas e sofás; e por último, porém maior que todas, Bola de Pêlo, a filha mosqueada de pêlo comprido da Floco de Neve, amarela, preta e branca, que um dia descobri filhote minúsculo, na garagem, estrangulada e quase morta, com a cabeça metida numa velha rede de badminton, e que surpreendeu a todos nós por não ter morrido, pelo contrário, por ter crescido e se tornado a gata de melhor índole que já encontrei.
E há o gato preto, que não tem outro nome além de Gato Preto e que apareceu há quase um mês. Não achávamos que fosse morar aqui: parecia muito bem alimentado para ser um gato de rua; velho e vistoso demais para ter sido abandonado. Lembrava uma pequena pantera e se movia como um fragmento da noite.
Um dia, no verão, ele estava à espreita na nossa varanda em ruínas: oito ou nove anos — num bom palpite — macho, olhos amarelo-esverdeados, muito amistoso, imperturbável. Achei que pertencia a algum fazendeiro vizinho ou a seu empregado.
Viajei por algumas semanas, para acabar de escrever um livro, e quando voltei ele ainda estava na nossa varanda, morando numa velha cama de gatos que uma das crianças lhe arranjara. Estava, entretanto, quase irreconhecível. Pedaços de pêlo tinham caído e havia arranhões fundos na sua pele cinza. A ponta de uma orelha tinha sido decepada a mordidas. Havia um talho debaixo de um olho e um pedaço do lábio tinha sido arrancado. Ele parecia fraco e extenuado.
Levamos o Gato Preto ao veterinário, que lhe prescreveu antibióticos, que eram dados todas as noites, misturados com uma comida mole de gato. Ficamos nos perguntando com quem ele havia brigado. Floco de Neve, nossa feroz e linda rainha branca? Guaxinins? Um gambá com presas afiadas?
Os arranhões pioravam a cada noite — certa madrugada, ele apareceu com a ilharga mordida; na seguinte, foi sua barriga, lanhada, com marcas de garras, que sangrava quando tocada.
Quando chegou nesse ponto, levei-o ao porão para que se recuperasse ao lado da fornalha e de uma pilha de caixas. O Gato Preto era surpreendentemente pesado; eu o carreguei lá para baixo, junto com o cesto, com a caixa de areia e com um pouco de água e comida. Fechei a porta atrás de mim. Tive de lavar o sangue das minhas mãos quando saí do porão.
Ele ficou lá embaixo por três ou quatro dias. À primeira vista, parecia fraco demais para se alimentar sozinho: um corte debaixo do olho tinha-o deixado quase caolho e o animal mancava e se reclinava fracamente, o pus amarelo vertendo do corte no seu lábio.
Eu descia lá todas as manhãs e todas as noites para alimentá-lo; dava antibióticos, que eu misturava com sua comida em lata, limpava muito cuidadosamente seus piores cortes e falava com ele. O pobrezinho estava com diarréia e, apesar de eu trocar sua caixa de areia diariamente, o porão exalava um forte mau cheiro.
Os quatro dias que o Gato Preto ficou no porão foram péssimos na minha casa. O bebê escorregou na banheira, bateu a cabeça e quase se afogou. Soube que um projeto meu, a que eu me dedicara de corpo e alma — a adaptação do romance de Hope Mirrlees, Lud na neblina para a BBC —, não ia mais acontecer, e percebi que não tinha mais energia para recomeçar a partir do zero, vendendo-o para outras emissoras ou para outras mídias. Minha filha foi para um acampamento de verão e imediatamente começou a mandar para casa um excesso de cartas e postais de cortar o coração, implorando-nos para trazê-la de volta. Meu filho brigou com seu melhor amigo a ponto de não estarem mais se falando. E minha esposa, voltando para casa numa noite, atropelou um veado que surgiu na frente do carro. A criatura morreu, o carro ficou sem poder mais rodar e minha mulher sofreu um pequeno corte na sobrancelha.
No quarto dia, o gato rondava pelo porão, andando hesitante porém impacientemente entre as pilhas de livros e revistas em quadrinhos, das caixas de correspondência e de fitas cassete, de fotografias, de presentes e outras quinquilharias. Ele miou para mim a fim de que eu o deixasse sair e, relutantemente, foi o que fiz.
Ele voltou para a varanda e dormiu lá pelo resto do dia.
Na manhã seguinte, havia novos e profundos cortes nos seus flancos e chumaços de pêlo preto de gato — seu pêlo — cobriam as tábuas da varanda.
Chegaram cartas da nossa filha naquele dia, dizendo que o acampamento estava melhor e que ela podia agüentar mais alguns dias; meu filho e seu amigo resolveram suas desavenças, apesar de eu nunca ter sabido — figurinhas, jogos de computador, Guerra nas estrelas ou uma garota — qual fora o motivo da briga. Soube-se que o executivo da BBC que tinha vetado Lud na neblina estava recebendo propina (bem, "empréstimos questionáveis") de uma produtora independente e tinha sido mandado para casa numa licença permanente: sua sucessora, fiquei feliz em saber quando ela me mandou um fax, era a mulher que tinha inicialmente me proposto o projeto antes de sair da BBC.
Pensei em levar o Gato Preto de volta ao porão, mas resolvi que não. Em vez disso, decidi tentar descobrir que tipo de animal estava vindo à nossa casa e; a partir do que descobrisse, formular um plano de ação — capturá-lo com uma armadilha, talvez.
Minha família costuma me dar de presente de aniversário e de Natal engenhocas e geringonças, brinquedos caros que excitam minha imaginação, mas que, em última análise, raramente saem de suas caixas. Há um desidratador de alimentos e uma faca de trinchar elétrica, uma máquina de fazer pães e, no ano passado, ganhei um binóculo para ver no escuro. No dia de Natal, coloquei pilhas no binóculo e andei pelo porão no escuro, impaciente demais até mesmo para esperar anoitecer, espreitando um bando imaginário de estorninhos (Advertem para que não seja ligado com a luz acesa: isso pode danificar o binóculo e possivelmente seus olhos). Depois, coloquei o aparelho de volta na sua caixa, onde continua quieto, no meu escritório, ao lado da caixa de cabos do computador e de bugigangas esquecidas.
Talvez, pensei eu, a criatura — cão, gato, guaxinim, ou o que quer que fosse — não viesse se me visse sentado na varanda. Então, levei uma cadeira para o quarto de vestir, que é apenas um pouco maior do que um guarda-roupas, do qual se avista a varanda e, quando todo mundo na casa já estava dormindo, fui até lá e dei boa-noite ao Gato Preto.
O gato, disse minha mulher a primeira vez que ele chegou em casa, é uma pessoa. E havia algo muito humano na sua enorme cara leonina; seu largo nariz negro, seus olhos amarelo-esverdeados, sua boca amável, mas cheia de presas (de onde ainda pingava pus cor de âmbar do lábio inferior direito).
Acariciei sua cabeça e cocei seu pescoço, debaixo do queixo, e desejei-lhe boa sorte. Daí, entrei e apaguei a luz da varanda.
Sentei-me na minha cadeira dentro de casa, na escuridão, com o binóculo de ver no escuro no colo. Liguei o binóculo e um fio de luz esverdeada saiu das lentes,
O tempo passava, no escuro.
Eu experimentei o binóculo olhando as trevas, aprendendo a focar, a ver o mundo em tons de verde. Fiquei horrorizado pela quantidade de insetos que pude enxergar infestando o ar noturno: era como se a noite fosse algum tipo de pesadelo, uma sopa inundada de vida. Então, tirei o binóculo dos meus olhos e observei os ricos negros e azuis da noite, vazia, pacífica e calma.
O tempo passava. Eu lutava para me manter acordado, sentindo muito a falta de cigarros e café, meus dois vícios esquecidos. Qualquer um deles teria mantido meus olhos abertos. Mas, antes de eu ter caído muito fundo no mundo do sono e dos sonhos, um uivo vindo do jardim me acordou totalmente. Desajeitado, levei o binóculo aos meus olhos e decepcionei-me ao ver que era apenas Floco de Neve, a gata branca, riscando o jardim da frente corno uma mancha de luz branco-esverdeada. Ela desapareceu na mata à esquerda da casa e não voltou mais.
Eu estava quase me sentando de novo, quando me ocorreu que deveria tentar descobrir o que exatamente tinha assustado Floco de Neve. Então, comecei a rastrear as proximidades com o binóculo, procurando um guaxinim, um cão ou um gambá feroz. E havia, realmente, alguma coisa indo pela entrada da garagem em direção à casa. Eu podia ver com o binóculo, claro como água.
Era o Diabo.
Eu nunca tinha visto o Diabo antes e, apesar de ter escrito sobre ele no passado, se me pressionassem, teria confessado que não acreditava nele, a não ser como uma figura imaginária, trágica e miltoniana. A figura que vinha pela entrada da garagem não era o Lúcifer de Milton. Era o Diabo.
Meu coração começou a golpear o peito, a esmurrar tão forte que doeu. Tive esperança de que ele não me visse; que, na casa escura, atrás do vidro da janela, eu estivesse escondido.
A figura esvoaçava e se transformava enquanto andava pela entrada da casa. Num momento, era escura, com a forma de um touro, ou de um minotauro; noutro, era esbelta e feminina e, logo em seguida, era um gato, enorme, um gato selvagem cinza-esverdeado, coberto de cicatrizes, com a cara contorcida de ódio.
Há degraus para subir na minha varanda. Quatro degraus brancos de madeira que precisam de uma demão de tinta (sabia que eles eram brancos, apesar de, como tudo o mais, estarem verdes vistos pelo binóculo). O Diabo parou ao pé dos degraus e bradou alguma coisa que não pude entender, três, talvez quatro palavras numa língua queixosa, gemida, que já devia ser velha e esquecida quando a Babilônia era jovem; e, apesar de não ter entendido as palavras, senti o cabelo da minha nuca eriçar enquanto ele as proferia.
Então, ouvi, abafado pelo vidro, mas ainda assim audível, um rosnado baixo, um desafio, e — vacilante, vagarosamente — uma figura negra desceu os degraus da casa em direção ao Diabo. Nesses dias, o Gato Preto não andava mais como uma pantera; em vez disso, tropeçava e balançava como um marinheiro que desembarcara recentemente.
Agora, o Diabo era uma mulher. Ela disse algo suave e gentil ao gato, numa língua que soava como o francês e estendeu-lhe a mão. Ele cravou os dentes no braço dela e a criatura encrespou os lábios e cuspiu em sua direção.
Então, a mulher olhou para mim e, se antes eu duvidara de que fosse o Diabo, agora tinha certeza: seus olhos lançaram fogo vermelho sobre mim, embora não se consiga ver o vermelho pelo binóculo de visão noturna, apenas tons de verde. E o Diabo me viu através da janela. Ele me viu. Não tenho a menor dúvida.
O Diabo se torceu e se retorceu e agora era um tipo de criatura como um chacal de cara chata, cabeça enorme e pescoço de touro, algo entre uma hiena e um dingo. Havia larvas se contorcendo no seu pêlo sarnento. Ele começou a subir os degraus.
O Gato Preto pulou em sua direção e em segundos os dois viraram uma coisa que rolava e se retorcia, movendo-se mais rápido do que meus olhos conseguiam acompanhar.
Tudo isso em silêncio.
Então um ronco baixo — da estrada que passava em frente de casa, à distância, um caminhão movia-se pesadamente pela madrugada, com seus faróis flamejantes ardendo radiantes pelo binóculo, como sóis verdes. Tirei as lentes dos olhos e vi apenas a escuridão; depois o tranqüilo amarelo dos faróis e, então, o vermelho das luzes traseiras enquanto o caminhão desaparecia de novo no nada.
Quando ergui o binóculo novamente, não havia mais nada a ser visto. Apenas o Gato Preto nos degraus, olhando para cima. Eu dirigi os visores para onde ele olhava e vi algo voar para longe — um abutre, talvez, ou uma águia —, além das árvores, e sumir.
Fui até a varanda, peguei o Gato Preto ao colo, acariciei-o e disse-lhe coisas gentis e confortantes. Ele choramingou penosamente quando me aproximei, mas depois veio dormir no meu colo; coloquei-o na sua cesta e subi até meu quarto para dormir. Na manhã seguinte, havia sangue seco na minha camiseta e nos meus jeans.
Isso foi há uma semana.
A coisa que vem à minha casa não aparece todas as noites, mas vem na maioria delas: sabemos disso pelos ferimentos no gato e pela dor que posso ver nos seus olhos leoninos. Ele já perdeu o uso da pata dianteira esquerda e seu olho direito não abre mais.
Pergunto a mim mesmo o que fizemos para merecer o Gato Preto. Gostaria de saber quem o mandou. E, egoísta e amedrontado, indago-me o quanto mais ele tem para dar.
A PONTE DO TROLL
No começo dos anos sessenta, quando eu tinha três ou quatro anos, arrancaram a maioria dos trilhos de trem. Reduziram drasticamente os serviços ferroviários. Isso significava que não havia outro lugar para ir a não ser Londres, e a cidadezinha onde eu morava tornou-se o fim da linha.
Minha primeira lembrança fidedigna: dezoito meses de idade, minha mãe no hospital tendo minha irmã e minha avó levando-me até uma ponte, eu nos seus braços para ver o trem lá embaixo, arfando e fumegando como um dragão de ferro negro.
Nos anos seguintes, os últimos trens a vapor desapareceram e, com eles, uma rede de ferrovias que ligava aldeia a aldeia, cidade a cidade.
Eu não sabia aonde iam os trens. Pela época em que eu tinha sete anos, já eram uma coisa do passado.
Morávamos numa velha casa, nos arredores da cidade. Os campos dela eram baldios e negligenciados. Eu costumava pular a cerca, deitar-me à sombra de uma pequena leira de juncos e ler; ou, se estivesse me sentindo mais aventureiro, explorava o terreno do solar vazio, além dos campos. Lá havia um lago ornamental obstruído por ervas daninhas, sobre o qual havia uma ponte de madeira. Nunca vi nenhum trabalhador ou caseiro nas minhas incursões pelos jardins e bosques e nem tentei entrar no solar, isso seria cortejar o azar e, além do mais, acreditava que toda casa velha e vazia fosse assombrada. Não que fosse crédulo, eu simplesmente acreditava em coisas sombrias e perigosas. Era parte do meu credo infantil que a noite fosse cheia de fantasmas e bruxas, famintos, esvoaçantes e vestidos de negro.
O contrário parecia ser encorajadoramente verdadeiro: a luz do dia era segura. A luz do dia era sempre segura.
Um ritual: no último dia de aula do período do verão, voltando a pé para casa, eu costumava tirar os sapatos e as meias e, levando-os na mão, andava pela alameda pedregosa com meus pés róseos e macios. Durante as férias de verão, só calçava meus sapatos sob coerção. Eu festejava minha liberdade de não ter de calçar sapatos até que o período letivo começasse de novo, em setembro.
Quando tinha sete anos, descobri a trilha através da mata. Era verão, quente e resplandecente, e perambulei até bem longe de casa naquele dia.
Eu estava explorando. Passei pelo solar, suas janelas trancadas com tábuas pregadas, cruzei o terreno e continuei através de uma mata estranha. Desci com dificuldade uma ribanceira íngreme e me vi numa trilha sombria, coberta de árvores e nova para mim. A luz que penetrava pelas folhas era manchada de verde e dourado e eu achei que estivesse no país das fadas.
Um pequeno regato corria ao lado da trilha apinhado de minúsculos camarões transparentes. Eu os pegava e os observava contraindo-se e girando na ponta dos meus dedos. Daí, eu os colocava de volta.
Vagueei pela trilha. Era perfeitamente reta e coberta por uma grama curta. Vez ou outra, eu achava pedrinhas incríveis: derretidas, com bolhas marrons, púrpuras e pretas. Se você as segurasse contra a luz, veria todas as cores do arco-íris. Eu estava convencido de que eram extremamente valiosas e enchi meus bolsos com elas.
Andei e andei pelo corredor verde e dourado sem ver ninguém.
Não estava com fome ou com sede. Apenas me perguntava onde a trilha ia dar. Ia em linha reta e ela era perfeitamente plana. A trilha nunca mudava, mas a paisagem ao seu redor, sim. Primeiro, estava andando no fundo de uma ravina, ribanceiras cobertas de grama erguiam-se íngremes de ambos os lados. Mais tarde, a trilha estava acima de tudo e, enquanto andava, podia ver as copas das árvores abaixo de mim e os telhados das raras e distantes casas. Minha trilha era sempre plana e reta e eu andava por vales e planaltos, vales e planaltos. Finalmente, em um dos vales, cheguei à ponte.
Era feita de tijolos vermelho-claros, um enorme arco curvo sobre a trilha. Ao lado da ponte, havia degraus talhados na pedra do dique e, no alto dos degraus, um pequeno portão de madeira.
Fiquei surpreso ao ver um sinal de existência de humanos na minha trilha, a qual, agora, eu acreditava ser uma formação natural, como um vulcão. E, com um sentimento mais de curiosidade do que de qualquer outra coisa (eu tinha, afinal de contas, andado centenas de milhas, estava convencido disso, e poderia estar em qualquer lugar), subi os degraus de pedra e entrei pelo portão.
Não estava em lugar algum.
O alto da ponte estava coberto de lama. Em cada um dos lados havia uma campina: de um dos meus flancos havia um trigal e, do outro, era apenas grama. Havia as marcas empastadas de enormes rodas de trator na lama seca. Atravessei a ponte para ter certeza: não fez barulho algum, meus pés descalços não fizeram som algum.
Não havia nada por milhas, apenas campos, trigo e árvores.
Peguei uma espiga de trigo e arranquei os doces grãos, descascando-os entre meus dedos. Mastiguei-os meditativamente.
Percebi que estava ficando com fome e desci de volta aos trilhos abandonados da ferrovia. Era hora de ir embora. Não estava perdido. Tudo o que tinha de fazer era seguir a trilha para casa de novo.
Havia um troll esperando por mim, debaixo da ponte.
— Eu sou um troll — disse ele. Então, fez uma pausa e acrescentou, quase como que para si mesmo:
— Fol rol de ol rol,
Era enorme, sua cabeça tocava o alto do arco de tijolos. Ele era mais ou menos translúcido. Eu podia ver os tijolos e as árvores através dele, ofuscados mas não desaparecidos. Ele era todos os meus pesadelos encarnados. Tinha dentes enormes e fortes, garras que despedaçavam e mãos fortes e peludas. Seus cabelos eram compridos, como uma das bonecas de plástico da minha irmã, com olhos protuberantes. Ele estava nu, seu pênis pendurado na moita de pêlos entre as pernas.
— Eu ouvi você, Jack — sussurrou numa voz que parecia ser o vento. — Ouvi você arrastando os pés na minha ponte. Agora vou comer sua vida.
Eu tinha só sete anos, mas, como era dia, não me lembro de ter ficado assustado. É bom que sejam as crianças a enfrentar os elementos de um conto de fadas — elas estão bem preparadas para lidar com isso,
— Não me coma — retruquei ao troll. Eu vestia uma camiseta listrada marrom e calças de veludo marrom. Meu cabelo era castanho e um dos meus dentes da frente tinha caído. Estava aprendendo a assobiar por entre eles, mas ainda não tinha conseguido.
— Vou comer sua vida, Jack — disse o troll. Eu o encarei;
— Minha irmã mais velha vem por essa trilha daqui a pouco — menti — e ela é muito mais saborosa do que eu. Coma minha irmã em vez de mim.
O troll farejou o ar e riu:
— Você está só — disse ele. — Não há mais nada na trilha. Nada mesmo.
Então, o monstro inclinou-se e correu seus dedos por mim. Parecia que borboletas roçavam meu rosto — como o toque de uma pessoa cega. Daí, cheirou seus dedos e sacudiu sua enorme cabeça.
— Você não tem uma irmã mais velha. Só uma irmã menor e ela está na casa dos amigos hoje.
— Você sabe tudo isso só pelo cheiro? — perguntei, espantado.
— Trolls podem farejar o arco-íris. Trolls podem farejar as estrelas — sussurrou melancólico. — Podem até farejar os sonhos que você teve antes de ter nascido. Chegue mais perto que vou comer a sua vida.
— Tenho pedras preciosas nos bolsos — disse ao troll. — Fique com elas, não comigo. Veja. Eu mostrei a ele as jóias de lava que tinha achado.
— Clínquer — disse o troll. — O refugo jogado fora das Maria-fumaças. Não tem valor para mim.
Ele escancarou a boca. Dentes afiados. Seu hálito fedia a bolor de folhas e à face inferior das coisas.
— Comer. Agora.
Ele se tornou mais e mais sólido para mim, mais e mais real; o mundo exterior tornou-se mais horizontal e começou a esvanecer.
— Espere. — Enterrei meus pés na lama debaixo da ponte e encurvei meus dedinhos, agarrando-me firmemente ao mundo real. Encarei seus grandes olhos:
— Você não quer comer minha vida. Não agora. Eu... eu tenho só sete anos, Eu nem vivi ainda. Há livros que ainda não li. Nunca andei de avião. Ainda não sei assobiar — não de verdade. Por que não me deixa ir? Quando eu for mais velho e maior, uma refeição melhor, eu volto para você.
O troll encarou-me com olhos que eram como faróis.
Então, assentiu com a cabeça.
— Quando você voltar, então — disse ele. E sorriu.
Eu me virei e voltei pelo caminho silencioso e reto por onde antes tinha passado a linha do trem.
Depois de um tempo, comecei a correr.
Corri pela trilha sob a luz verde, bufando e ofegando, até sentir uma dor lancinante debaixo das costelas, uma dor de pontada. Apertando o lado onde doía, fui para casa aos tropeços.
Enquanto crescia, os campos começaram a sumir. Uma a uma, fila a fila, casas surgiam em ruas batizadas com o nome de flores silvestres ou de autores ilustres. A nossa — uma velha casa vitoriana com telhado arruinado — foi vendida e demolida; novas moradias cobriram o jardim.
Construíam casas por toda a parte.
Uma vez, eu me perdi num terreno de construções que cobriam dois prados que antes eu conhecia como a palma da minha mão. Apesar de tudo, não me importava muito que os campos estivessem sumindo. O velho solar fora comprado por uma multinacional e o terreno cedera lugar a mais casas.
Foi só depois de oito anos que voltei à velha linha de trem; e não estava só.
Estava com quinze anos e tinha mudado de escola duas vezes, nessa época. O nome dela era Louise e foi meu primeiro amor.
Eu adorava seus olhos cinzas, seu belo cabelo castanho, seu andar desajeitado (como um filhote de corça aprendendo a andar — o que soa bem idiota e me desculpo por isso); quando tinha treze anos, eu a vi mascando chicletes e caí de amores por ela como um suicida cai de uma ponte.
O principal problema de estar apaixonado por Louise era sermos os melhores amigos um do outro e ambos saíamos com outras pessoas. Eu nunca disse a ela que a amava, ou mesmo que me interessava por ela. Éramos amigos.
Eu estava na casa dela, naquela noite: sentamos no seu quarto e tocamos Rattus Norvegicus, o primeiro LP dos Stranglers. Era o começo do punk e tudo parecia muito empolgante; as possibilidades, na música e em tudo o mais, eram intermináveis. Finalmente, chegou a hora de eu ir para casa e ela decidiu me acompanhar. Demos as mãos, inocentemente, só amigos, e andamos os dez minutos que durava a caminhada até a minha casa.
A lua brilhava e o mundo estava visível e sem cor. Era uma noite quente.
Chegamos na minha casa. Vimos as luzes acesas lá dentro e ficamos na calçada conversando sobre a banda que eu estava começando. Não entramos.
Daí, decidi que eu a levaria para casa. Então, fizemos o caminho de volta.
Ela me contou sobre as batalhas que estava tendo com sua irmã menor, que roubava sua maquiagem e perfumes. Louise desconfiava que sua irmã estava transando com garotos. Louise era virgem. Ambos éramos.
Ficamos na rua, fora da casa dela, sob a luz de sódio amarela dos postes de iluminação, e fitamos nossos lábios negros e rostos amarelo-pálidos.
Rimos um para o outro.
Então, saímos andando, pegando ruas quietas e caminhos desertos. Em um dos novos terrenos de construção de casas, uma trilha nos levou à mata e nós continuamos a seguir por ela.
A trilha era reta e escura, mas as luzes das casas distantes brilhavam como estrelas no chão e a lua nos dava luz suficiente para ver o caminho. Uma hora, apavoramo-nos, quando alguma coisa fungou e bufou na nossa frente. Prensamo-nos um contra o outro e vimos que era um texugo. Rimos, abraçamo-nos e continuamos a andar.
Falávamos absurdos sobre o que sonhávamos, queríamos e pensávamos.
O tempo todo, eu queria beijá-la, sentir seus seios e, talvez, pôr minha mão entre suas pernas.
Finalmente, percebi minha chance. Havia uma velha ponte de tijolos sobre a trilha e paramos debaixo dela. Eu a abracei impetuosamente. Sua boca abriu-se ao encontro da minha.
Então, ela ficou fria e rígida e parou de se mexer.
— Olá — disse o troll.
Soltei Louise. Estava escuro debaixo da ponte, mas o vulto do troll cobria a escuridão.
— Eu congelei a moça — disse o troll, — Assim, podemos conversar. Agora, vou comer sua vida.
Meu coração martelava e eu tremia.
— Não.
— Você disse que voltaria e voltou. Já aprendeu a assobiar?
— Já.
— Isso é bom. Nunca consegui assobiar. — Ele farejou e maneou a cabeça. — Estou satisfeito. Você cresceu em vida e em experiência. Mais para comer. Mais para mim.
Agarrei Louise, um zumbi teso, e a empurrei para frente.
— Não me coma. Eu não quero morrer. Coma esta moça. Aposto que é muito mais saborosa do que eu. E é dois meses mais velha. Por que você não fica com ela?
O troll ficou em silêncio.
Ele farejou Louise dos pés à cabeça, fungando nos seus pés, entre suas pernas, nos seus seios e cabeça. Daí, olhou para mim:
— Ela é uma inocente — disse. — Você não. Eu não quero a menina, Quero você.
Saí de baixo da ponte e fitei as estrelas na noite.
— Mas há tanta coisa que nunca fiz — disse, um pouco para mim mesmo. — Quero dizer, eu nunca... eu nunca fiz sexo. E nunca estive na América. Eu nunca... — balbuciei —, eu nunca fiz nada. Ainda não.
O troll não disse coisa alguma.
— Eu posso voltar para você quando for mais velho.
O troll não disse coisa alguma.
— Eu vou voltar. Juro que vou.
— Voltar para mim? — disse Louise. — Por quê? Aonde você vai?
Virei-me. O troll tinha ido e a garota que achei que amava estava de pé nas sombras, debaixo da ponte.
— Vamos para casa — disse-lhe. — Venha.
Andamos de volta, sem dizer nada.
Ela começou a sair com o baterista da banda punk que eu tinha formado e, muito depois, casou-se com outra pessoa. Uma vez, encontramo-nos, num trem, depois de ter-se casado, e me perguntou se me lembrava daquela noite. Eu disse que sim.
— Eu gostava muito de você, Jack — ela me disse. — Naquela noite pensei que você fosse me beijar. Pensei que fosse me pedir. Eu teria dito sim... se você tivesse...
— Mas eu não pedi,
— Não — retrucou ela. — Você não pediu.
Seu cabelo estava muito curto. Não lhe caía bem. Nunca a revi. A mulher de cabelo curto com um sorriso teso não era a garota que eu tinha amado e falar com ela me fez sentir constrangido.
Mudei-me para Londres e, então, alguns anos mais tarde, fiz o caminho de volta. Mas a cidade para onde tinha retornado não era aquela de que eu me lembrava: não havia campos, nem fazendas, nem pequenas alamedas cascalhadas. Mudei-me para longe tão logo quanto pude, para uma pequena vila dez milhas estrada abaixo. Mudei-me com minha família — eu estava casado, nessa época, e com um bebê de colo — para uma velha casa que, muitos anos antes, tinha sido uma estação ferroviária. Os trilhos foram retirados e a terra revolvida, e o casal de velhos que morava na casa em frente a usava para plantar legumes,
Eu estava ficando velho. Um dia, encontrei um fio de cabelo branco; num outro, ouvi uma gravação onde eu falava e percebi que soava exatamente como meu pai.
Estava trabalhando como diretor artístico em Londres, numa das maiores gravadoras. Viajava de trem para o trabalho a maioria dos dias, voltando algumas noites.
Tinha de manter um pequeno apartamento em Londres; é difícil viajar de volta para casa quando a maioria das bandas que você avalia não põe os pés no palco antes da meia-noite. Isso também significava que era fácil ir para cama com outras mulheres, se eu quisesse. E eu queria.
Pensava que Eleanora — este era o nome da minha mulher; eu deveria ter mencionado antes, suponho — não soubesse das outras mulheres, mas eu voltei de uma excursão de duas semanas em Nova Iorque, num dia de inverno, e quando cheguei, a casa estava vazia e fria.
Ela tinha deixado uma carta, não um bilhete. Quinze páginas, caprichosamente datilografadas, e cada palavra era verdade, inclusive o PS, onde se lia: Você não me ama realmente. E nunca me amou.
Vesti um casaco pesado, deixei a casa e simplesmente caminhei, atordoado e um pouco entorpecido,
Não havia neve no chão, mas sim uma geada consistente e as folhas se esmigalhavam sob os meus pés enquanto eu andava. As árvores pareciam esqueletos negros contra o sombrio céu cinza de inverno.
Andei ao lado da estrada. Carros passavam por mim, indo e vindo de Londres. Uma hora, tropecei num gralho meio escondido em uma pilha de folhas marrom, rasgando minha calça e cortando minha perna.
Alcancei a vila vizinha. Havia um rio à direita da estrada e uma trilha que eu nunca tinha visto antes à sua margem; avancei pelo caminho, fitando o ribeirão parcialmente congelado que gorgolejava, borrifava e cantava.
O caminho ia através dos campos, reto e herbóreo.
Encontrei uma pedra, meio enterrada, de um lado da trilha. Peguei-a e limpei a lama dela. Era um fragmento derretido de alguma coisa arroxeada, com um estranho arco-íris resplandecendo nele. Coloquei-o no bolso do meu casaco e o segurei na mão enquanto andava, sua presença era tépida e tranqüilizadora.
O rio serpenteava pelos campos e eu continuava a andar em silêncio.
Tinha andado por uma hora antes de ver casas — novas, pequenas e quadradas — no aterro acima de mim. Então, vi a ponte e soube onde estava: na velha linha do trem e tinha descido por ela vindo de outra direção.
O lado da ponte estava pichado: FODA e BARRY AMA SUSAN e o onipresente FN da Frente Nacional. Fiquei de pé debaixo do arco de tijolos vermelhos da ponte; posicionado entre as embalagens de sorvete, os sacos de salgadinhos e do solitário e triste preservativo usado, observando a fumaça da minha respiração no frio ar da tarde. O sangue tinha secado em minhas calças.
Os carros passavam na ponte acima de mim. Pude ouvir um rádio tocando alto em um deles.
— Olá — disse eu calmamente, sentindo-me constrangido, um tanto tolo. — Olá.
Não houve resposta. O vento farfalhou os pacotes de salgadinhos e as folhas.
— Eu voltei. Disse que voltaria. E voltei. Olá.
Silêncio.
Comecei a chorar, então, como um idiota, silenciosamente, soluçando debaixo da ponte.
Uma mão tocou meu rosto e olhei para cima.
— Não achei que você voltaria — disse o troll.
Ele tinha a minha altura agora, mas nada mais mudara. Seu longo cabelo estava desgrenhado e sujo de folhas; seus olhos eram grandes e solitários.
Dei de ombros e enxuguei meu rosto com a manga do casaco.
— Voltei.
Três garotos passaram na ponte sobre nós, gritando e correndo.
— Sou um troll — sussurrou ele numa voz fraca e assustada. — Fol rol de ol rol.
Ele tremia.
Estendi minha mão e segurei sua enorme pata cheia de garras. Sorri para ele.
— Está tudo bem — disse-lhe. — De verdade. Está tudo bem.
O trol! meneou a cabeça.
Ele me empurrou para o chão, sobre as folhas, as embalagens e sobre o preservativo e abaixou-se sobre mim. Então, ergueu sua cabeça, abriu sua boca e comeu minha vida com seus fortes dentes afiados.
Quando acabou, levantou-se sacudiu as folhas da roupa. Colocou a mão no bolso do seu casaco, tirou um fragmento queimado de clínquer, coberto de bolhas, e me ofereceu:
— Isto é seu — disse o troll.
Olhei para ele: vestia minha vida confortavelmente, facilmente, como se a estivesse usando havia anos. Peguei o clínquer da sua mão e o farejei. Pude sentir o cheiro do trem de onde tinha caído, muito tempo atrás. Agarrei-o com força na minha mão peluda.
— Obrigado — disse.
— Boa sorte — disse o troll.
— Sim. Para você também.
O troll sorriu com o meu rosto.
Deu suas costas para mim e começou a andar pelo caminho por onde eu tinha vindo, em direção à vila, de volta para a casa vazia de onde eu havia partido naquela manhã. Ele assobiava enquanto andava.
Desde então, tenho estado aqui. Escondendo-me. Esperando. Uma parte da ponte. Observo das sombras enquanto as pessoas passam: caminhando com seus cães, conversando ou fazendo coisas que as pessoas fazem. As vezes, param debaixo da minha ponte; ficam de pé, mijam ou fazem amor. Eu as observo, mas não digo nada e elas nunca me vêem.
Fol rol de ol rol.
Só vou ficar aqui, no escuro sob o arco. Posso ouvir todos vocês fazendo barulho com os pés, trip-trap, trip-trap, sobre minha ponte.
Ah, sim, posso ouvi-los.
Mas não vou sair.
O PALHAÇO
Ninguém sabia de onde o brinquedo viera, ou que bisavó ou tia distante o possuíra antes de ir para o quarto de brincar.
Era uma caixa, talhada e pintada de vermelho e dourado. Sem dúvida, era atraente e, segundo sustentavam os adultos, bem valiosa — talvez fosse até mesmo uma relíquia. Infelizmente, o trinco estava emperrado por causa da ferrugem e a chave tinha se perdido. Por isso, o palhaço não podia pular da sua caixa. Ainda assim, era uma caixa extraordinária, pesada, entalhada e dourada.
As crianças não brincavam com ela. Ficava no fundo da velha arca de madeira onde guardavam brinquedos, que era do mesmo tamanho e idade da arca de tesouro do pirata, ou, ao menos, era isso que as crianças achavam. A caixa de surpresas estava enterrada debaixo de bonecas e trens, palhaços e estrelas de papel, velhos truques de mágica e marionetes aleijadas com seus fios irremediavelmente embaraçados, roupas elegantes (aqui os farrapos do vestido de uni antigo casamento, lá um chapéu negro de seda, coberto com as crostas de tempos e eras) e bijuterias, armações para saias-balão, peões e cavalinhos de pau quebrados. Debaixo de todos eles, ficava a caixa de surpresas.
Os pequenos não brincavam com ela. Sussurravam entre si, sozinhos no quarto de criança do sótão. Nos dias cinzas, quando o vento uivava ao redor da casa e a chuva retinia nas telhas de ardósia e tamborilava no beiral do telhado, as crianças contavam histórias umas às outras sobre o palhaço da caixa, apesar de nunca o terem visto. Uma afirmava que o palhaço era um mago mau, colocado na caixa como punição por crimes horríveis demais para serem descritos; outra (estou certo de que devia ser uma das meninas) dizia que o recipiente era a Caixa de Pandora e que o palhaço havia sido colocado ali como guardião para evitar que as coisas más que estavam lá dentro escapassem novamente. Elas nem mesmo tocavam na caixa, se pudessem evitar, apesar de, como acontecia vez ou outra, quando algum adulto dava pela falta da velha e encantadora caixa de surpresas e a tirava da arca, colocando-a numa posição de honra sobre o consolo da lareira, a meninada criar, então, coragem e, mais tarde, a esconder de novo na escuridão.
As crianças não brincavam com a caixa de surpresas. Quando cresceram e deixaram a grande casa, o quarto de brincar do sótão foi fechado e quase esquecido.
Quase, mas não inteiramente. Afinal, cada uma delas lembrava-se de andar sozinha sob a luz azul da lua, descalça, subindo até lá. Era quase um sonambulismo, pés silenciosos sobre a madeira das escadas, sobre o tapete puído do quarto de criança. Lembravam-se de abrir a arca do tesouro, tateando através das bonecas e roupas e de lá tirar a caixa.
Então, a criança tocava o trinco e a tampa se abria, devagar como um pôr-do-sol, a música começava a tocar e o palhaço saía. Não com um estalo e um pulo: não era um palhaço com mola. Mas, deliberada e intencionalmente, ele se erguia da caixa, acenando para que a criança chegasse mais perto, mais perto e sorrisse.
E, sob a luz da lua, ele contava a cada uma delas coisas de que nunca conseguiriam se lembrar por completo; coisas que nunca seriam capazes de esquecer inteiramente.
O menino mais velho morreu na Grande Guerra. O mais novo, depois que os pais morreram, herdou a casa, apesar de a terem tomado dele quando, uma noite, foi encontrado no porão com panos, parafina e fósforos, tentando incendiar a mansão. Foi internado no hospício, e talvez ainda esteja lá.
As outras crianças, que outrora foram meninas e agora eram mulheres, declinaram, cada uma delas, voltar para a casa na qual haviam crescido. Tábuas foram pregadas nas janelas e as portas trancadas com enormes chaves de ferro; as irmãs visitavam-na com tanta freqüência quanto visitavam o túmulo do seu irmão mais velho, ou o triste ser que uma vez fora seu irmão mais novo, o que equivale a dizer nunca.
Os anos passaram e as meninas são velhas; corujas e morcegos fizeram suas casas no velho quarto de criança do sótão. Os ratos fazem seus ninhos entre brinquedos esquecidos. As criaturas fitam sem curiosidade as figuras desbotadas da parede e mancham os restos do tapete com seus excrementos.
E, no fundo da caixa dentro da arca, o palhaço espera e sorri, guardando seus segredos. Ele espera pelas crianças. Ele pode esperar para sempre.
O LAGO DOS PEIXES DOURADOS
e Outras Histórias
Estava chovendo quando cheguei a Los Angeles e me senti cercado por centenas de velhos filmes.
Havia um motorista de limusine de uniforme preto, esperando por mim no aeroporto, segurando uma folha de cartolina branca com meu nome escrito errado em tetras elegantes.
— Vou levar o senhor direto pro hotel — disse o motorista. Pareceu um pouco desapontado por eu não ter malas para ele carregar, apenas uma surrada sacola de mão cheia de camisetas, cuecas e meias.
— É longe?
Ele sacudiu a cabeça.
— Vinte e cinco, talvez trinta minutos. Já esteve em Los Angeles antes?
— Não.
— Bom, eu sempre digo que Los Angeles é uma cidade de trinta minutos. Aonde quer que você queira ir, leva trinta minutos. Não mais do que isso.
Ele jogou minha sacola de mão no porta-malas, que chamava de bagageiro, e abriu a porta para eu entrar atrás.
— Então, de onde o senhor vem? — perguntou enquanto saíamos do aeroporto em direção às ruas molhadas e brilhantes, salpicadas de néon.
— Inglaterra.
— Inglaterra, é?
— Sim. Já esteve lá?
— Não, senhor, Vi em filmes. O senhor é ator?
— Sou um escritor.
Ele perdeu o interesse. Vez ou outra, xingava os outros motoristas entre dentes. Virou repentinamente, mudando de pista. Passamos por quatro carros batidos na pista onde estivéramos.
— Chove um pouco nesta cidade e, de repente, todo mundo desaprende a dirigir — disse-me ele. Recostei-me ainda mais no assento traseiro.
— Ouvi dizer que vocês têm muita chuva na Inglaterra.
Foi uma afirmação, não uma pergunta.
— Um pouco.
— Mais do que um pouco. Chove todo dia na Inglaterra. — Ele riu — E neblina espessa. Muito, muito espessa.
— Não exatamente.
— Como assim, não? — perguntou confuso, na defensiva. — Eu vi filmes.
Ficamos em silêncio, então, indo pela chuva de Hollywood, mas, depois de um tempo, ele disse:
— Pergunte-lhes sobre o quarto onde Belushi morreu.
— Como?
— Belushi. John Belushi. Foi no seu hotel que ele morreu. Drogas. O senhor ouviu falar sobre isso?
— Ah, sim.
— Fizeram um filme sobre a sua morte. Com um cara gordo que não parecia nada com ele. Mas ninguém fala a verdade sobre a morte do Belushi. Tinha dois outros caras junto. Os estúdios não queriam que desse merda. Mas quando você é um motorista de limusine, você ouve histórias.
— É mesmo?
— Robin Williams e Robert De Niro. Estavam lá com ele. Todo mundo ficando maluco com o pó feliz.
O hotel era a imitação de um castelo gótico branco. Eu disse adeus ao chofer e fiz o registro de entrada. Não perguntei a respeito do quarto onde Belushi morrera.
Fui para o meu chalé pela chuva, segurando minha sacola de mão, apertando o chaveiro que, conforme dissera o recepcionista, abriria as várias portas e portões. O ar cheirava a poeira molhada e, curiosamente, a xarope para tosse. Estava anoitecendo, quase escuro.
A água caía em jorros por todo o lugar. Corria em regatos e riachos pelo átrio. Seguia para um pequeno lago de peixes que se projetava do lado de um muro no vestíbulo.
Subi as escadas e entrei num quarto pequeno e úmido. Parecia um lugar pobre para um astro morrer.
A cama parecia um pouco pegajosa e a chuva tamborilava uma batida enlouquecedora no sistema de ar-condicionado.
Assisti a um pouco de televisão — a reprise do refugo: Cheers transformou-se imperceptivelmente em Taxi, que bruxuleou para o preto e branco e se tornou I Love Lucy — e caí no sono.
Sonhei com bateristas tocando seus tambores intermitentemente, a apenas trinta minutos de distância.
O telefone acordou-me.
— Oba, oba, oba. Então, você chegou bem?
— Quem é?
— É Jacob... do estúdio.
— Você vem para o café da manhã, né?
— Café...?
— Não se preocupe. Pego você no seu hotel em trinta minutos. As reservas já estão feitas. Você pegou meus recados?
— Eu...
— Passei por fax a noite passada. Até já.
A chuva tinha parado. O brilho do sol era quente e luminoso: a luz característica de Holiywood.
Subi até o edifício principal, caminhando sobre um tapete de folhas esmagadas de eucalipto — o cheiro de remédio para tosse da noite anterior.
Deram-me um envelope com um fax dentro — minha programação para os próximos dias, com mensagens encorajadoras e garatujas escritas à mão nas margens, dizendo coisas como: "Vai ser um estouro!" e "Vai ser um gmnde filme!". O fax estava assinado por Jacob Klein, obviamente a voz ao telefone. Nunca houvera tratativa alguma com esse tal Jacob Klein.
Um pequeno carro esporte vermelho parou do lado de fora do hotel. O motorista saiu e acenou para mim. Fui até ele. Tinha uma barba curta, grisalha, um sorriso que, num banco, é quase negociável e uma corrente de ouro em volta do pescoço. Mostrou-me um exemplar do Filhos do homem (Sons of Man). Era Jacob. Apertamos as mãos.
— David está por aqui? David Gambol?
David Gambol era o homem com quem eu havia falado antes, quando estava organizando a viagem. Não era o produtor. Eu não tinha muita certeza do que era. Ele se descrevera como "vinculado ao projeto".
— David não esta mais no estúdio. Eu estou meio que conduzindo o projeto e quero que saiba que estou nele de corpo e alma.
— Isso é bom?
Entramos no carro.
— Onde é a reunião? — perguntei.
Ele sacudiu a cabeça.
— Não é reunião — disse. — É um café da manhã.
Fiz cara de confuso. Ele teve pena de mim.
— É um tipo de pré-reunião da reunião — explicou.
Fomos do hotel a um shopping center em algum lugar a meia hora de distância, enquanto Jacob me dizia o quanto tinha gostado do meu livro e como estava encantado, tanto que tinha se vinculado ao projeto. Disse que tinha sido idéia sua colocar-me no hotel.
— Quis propiciar o tipo de sensação de Hollywood que você nunca teria no Four Seasons ou no Ma Maison, certo? — e me perguntou se estava no chalé onde John Belushi morrera. Disse-lhe que não sabia, mas que duvidava.
— Você sabe com quem ele estava quando morreu? Os estúdios encobriram.
— Não, quem?
— Meryl e Dustin,
— Você está falando de Meryl Streep e Dustin Hoffman?
— Claro.
— Como você sabe disso?
— As pessoas comentam. É Hollywood. Sabe como é.
Acenei com a cabeça como se soubesse, mas não sabia.
As pessoas falam de livros que se escrevem por si mesmos, mas isso é mentira. Livros não se escrevem por si mesmos. É preciso reflexão, pesquisa, dor nas costas, anotações e mais tempo e trabalho do que você poderia imaginar.
Com exceção de Filhos do homem que, de forma considerável, se escreveu por si mesmo.
A pergunta irritante que nos fazem — a nós, escritores — é:
— De onde você tira suas idéias?
E a resposta é: confluência. As coisas se juntam. Os ingredientes certos e, de repente: Abracadabra!
Começou com um documentário sobre Charles Manson a que assisti mais ou menos por acidente (estava numa fita de vídeo que um amigo me emprestou, depois de algumas coisas a que eu queria realmente assistir): havia um curta-metragem de Manson quando ele foi preso pela primeira vez, quando as pessoas acreditavam que era inocente e que o governo estava azucrinando os hippies. E, na tela, estava Manson — um orador carismático, messiânico e de boa aparência. Alguém por quem você rastejaria descalço até o inferno. Alguém por quem você mataria.
O julgamento começara e, poucas semanas depois, o líder havia desaparecido, substituído por um orador trôpego que balbuciava coisas incoerentes como um macaco, com uma cruz talhada na testa. Qualquer que fosse o gênio, não estava mais lá. Tinha sumido. Mas estivera lá.
O documentário continuava: um ex-prisioneiro de olhar duro, que tinha estado na cadeia com Manson, explicou:
— Charlie Manson? Ouça aqui, Charlie era uma piada. Não era nada. A gente ria dele, sabia? Ele não era nada!
Eu concordei com a cabeça. Houve um tempo, antes disso, que Manson fora o rei do carisma. Pensei numa graça divina, algo que lhe tinha sido dado e que fora subtraído.
Assisti ao resto do documentário obsessivamente. Então, sobre uma fotografia em preto e branco, o narrador disse algo. Voltei a fita e ele disse novamente.
Eu tive uma idéia. Tinha um livro que se escreveu por si mesmo.
O que o narrador havia dito foi isso: que os filhos que Manson tivera com as mulheres da Família foram enviados a uma série de orfanatos para adoção, com sobrenomes dados pelo tribunal que, com certeza, não eram Manson.
Pensei sobre uma dúzia de Manson com vinte e cinco anos de idade. Pensei na coisa carismática descendo sobre eles ao mesmo tempo. Doze Manson, no esplendor da sua glória, atraídos em direção a Los Angeles de todas as partes do mundo e uma filha de Manson tentando desesperadamente impedi-los de se reunirem e de, como nos diz a contracapa, "perceber seu aterrorizante destino".
Escrevi Filhos do homem num estado de grande excitação: estava acabado em um mês. Enviei-o à minha agente, que se surpreendeu com ele (“Bom, não é como suas outras obras, querido", disse-me prestimosamente) e o vendeu depois de um leilão — meu primeiro — por mais dinheiro do que eu pensei ser possível. (Meus outros livros, três coleções de histórias de fantasmas, elegantes, alusivas e evasivas, mal haviam pago o computador onde foram escritas.)
E então foi comprado — pré-publicação — por Hollywood, de novo após um leilão. Havia três ou quatro estúdios interessados: fui com aquele que queria que eu escrevesse o script. Sabia que nunca aconteceria, que nunca levariam adiante. Mas, então, faxes começaram a ser vomitados pelo meu aparelho, tarde da noite — a maioria assinada entusiasticamente por um Dave Gambol. Uma manhã, assinei cinco vias de um contrato tão real quanto um tijolo. Algumas semanas depois, minha agente avisou-me que o primeiro cheque caíra e que tinham chegado passagens para Hollywood, para termos "conversas preliminares". Parecia um sonho.
As passagens eram da classe executiva. Foi no momento em que vi que as passagens eram da classe executiva que soube que o sonho era real.
Fui para Hollywood na pequena bolha no alto do Jumbo, beliscando salmão defumado e segurando um exemplar de capa dura de Filhos do homem recém-saído da gráfica.
Então, café da manhã.
Disseram-me o quanto haviam adorado o livro. Não consegui entender o nome de ninguém. Os homens tinham barbas ou usavam bonés de baseball, ou ambos; as mulheres eram surpreendentemente atraentes, de um jeito meio asséptico.
Jacob pediu nosso café da manhã e pagou-o. Explicou que a reunião que viria depois era uma formalidade.
— É o seu livro que adoramos — disse. — Por que teríamos comprado o seu livro se não quiséssemos fazê-lo? Por que teríamos contratado você para escrever se não quiséssemos a particularidade que você traz ao projeto? Sua voceidade.
Concordei com a cabeça, muito sério, como se literalmente euidade fosse alguma coisa sobre a qual eu tivesse passado muitas horas ponderando.
— Uma idéia como essa. Um livro como esse. Você é bem único,
— Um dos mais únicos — disse uma mulher chamada Dina, ou Tina, ou possivelmente Deanna.
Ergui uma sobrancelha.
— Então, o que devo fazer na reunião?
— Seja receptivo — disse Jacob. — Seja positivo.
Levamos meia hora no carrinho vermelho de Jacob para chegar ao estúdio. Paramos no portão de segurança, onde ele teve uma discussão com o guarda. Deduzi que era novo no estúdio e que ainda não tinha recebido uma autorização permanente de entrada. Nem me pareceu, assim que entramos, que tivesse uma vaga permanente no estacionamento. Ainda não entendo as ramificações disso: pelo que ele me disse, vagas de estacionamento tinham tanto a ver com o status no estúdio, quanto os presentes do imperador, que determinavam o status de alguém na corte da antiga China.
Passamos pelas ruas de uma Nova Iorque estranhamente plana e estacionamos em frente de um velho e enorme banco.
Dez minutos de caminhada e estava numa sala de conferência, com Jacob e todas as pessoas do café da manhã, esperando alguém entrar. Na agitação, preferi não entender quem era esse alguém e o que ele ou ela fazia. Peguei o exemplar do meu livro e coloquei na minha frente, um talismã de diversas qualidades.
Alguém entrou. Era alto, com nariz e queixo pontudos e seu cabelo era comprido demais — como se tivesse raptado alguém muito mais jovem e roubado seu cabelo. Era australiano, o que me surpreendeu.
Sentou-se.
Olhou-me.
— Manda ver — disse.
Olhei para as pessoas do café da manhã, mas nenhuma delas estava olhando para mim — não pude ver os olhos de ninguém. Então, comecei a falar: sobre o livro, sobre a trama, sobre o final, a revelação dos planos na boate em Los Angeles, onde a boa Manson faz com que os outros fracassem, ou acha que faz; sobre minha idéia de ter um único ator representando todos os Manson homens.
— Você acredita nesse troço? — foi a primeira pergunta do Alguém. Essa era fácil. Eu já a havia respondido a pelo menos vinte e cinco jornalistas britânicos.
— Se acredito que um poder sobrenatural possuiu Charles Manson por um tempo e agora possui seus muitos filhos? Não. Se acredito que algo estranho estava acontecendo? Suponho que sim. Talvez o que houve foi simplesmente que, por um breve momento, sua loucura estava no mesmo ritmo da loucura do mundo. Não sei.
— Mm. Esse garoto Manson. Poderia ser Keanu Reaves?
Meu Deus, não, pensei. Jacob capturou meu olhar e fez que sim com a cabeça desesperadamente.
— Não vejo porque não — respondi. Afinal, era tudo imaginação. Nada daquilo era real.
— Estamos acertando um acordo com seu pessoal — disse Alguém, acenando pensativamente com a cabeça.
Despacharam-me para dar um tratamento ao texto a fim de que eles aprovassem. Por eles, entendi que queriam dizer o Alguém Australiano, apesar de não ter certeza absoluta.
Antes de sair, alguém me deu 700 dólares e me fez assinar pelo recebimento: duas semanas per diem.
Passei dois dias trabalhando nesse esboço. Tentava esquecer o livro e estruturar a história como um filme. O trabalho ia bem. Sentava-me no quarto de hotel, digitava no notebook que o estúdio havia me mandado e imprimia as páginas na impressora jato de tinta que viera com o computador. Comia no meu quarto.
Toda tarde, dava uma caminhada pelo Sunset Boulevard. Andava até a livraria "quase-vinte-e-quatro-horas", onde comprava um jornal. Então, sentava-me no átrio do hotel por meia hora, lendo o jornal. Depois, tendo recebido minha ração de sol e ar, voltava ao escuro e transformava meu livro em alguma outra coisa,
Havia um negro muito velho, um empregado do hotel, que andava pelo átrio, numa lentidão quase dolorosa, regando as plantas e inspecionando os peixes. Ele sorria quando passava por mim, e eu o cumprimentava com a cabeça.
No terceiro dia, levantei-me e fui até ele, que estava ao lado do lago de peixes, pegando lixo com as mãos: duas moedas e um maço de cigarros,
— Olá — disse eu.
— Sinhô — disse o velho.
Pensei em lhe dizer para não me chamar de senhor, mas não consegui pensar num modo de colocar isso sem causar ofensa.
— Belos peixes.
Ele assentiu com a cabeça e sorriu.
— Carpas ornamentais, trazidas da China pra cá.
Observamos os peixes nadando no pequeno lago.
— Será que eles ficam entediados?
Ele sacudiu a cabeça negativamente.
— Meu neto é ictiologista. Sabe o que é isso?
— Estuda os peixes.
— Hum-hum. Ele diz que os peixes têm uma memória que dura trinta segundos. Nadam em volta do laguinho e é sempre uma surpresa para eles, tipo "nunca estive aqui". Encontram outro peixe que conhecem há cem anos e dizem "quem é você, estranho?"'.
— Você perguntaria uma coisa ao seu neto por mim? — O velho assentiu com a cabeça. — Li uma vez que as carpas não têm um tempo de vida. Não envelhecem como nós. Morrem se forem pegas por gente, ou predadores, ou de doença, mas não ficam velhas e morrem. Teoricamente, poderiam viver para sempre.
Ele fez que sim com a cabeça.
— Vou perguntar a ele. Parece interessante. Estas três... bom, este aqui eu chamo de fantasma. Ele tem só quatro ou cinco anos, mas as outras duas vieram da China quando eu cheguei aqui pela primeira vez.
— E quando foi isso?
— Isso foi no ano do Nosso Senhor de 1924. Quantos anos você acha que eu tenho?
Não pude dizer. Ele parecia ser entalhado em madeira velha. Mais de cinqüenta e mais jovem que Matusalém. Disse-lhe isso.
— Nasci em 1906. Juro por Deus.
— Você nasceu aqui em Los Angeles?
Ele sacudiu a cabeça.
— Quando eu nasci, Los Angeles não era nada além de um laranjal, muito longe de Nova Iorque.
Polvilhou ração de peixe na superfície da água. As três criaturas emergiram subitamente, carpas fantasmas de um prateado pálido, esbranquiçado, fitando-nos, ou parecendo nos fitar, os Ós das suas bocas abrindo e fechando continuamente, como se estivessem falando conosco numa língua silenciosa e secreta, que só elas conheciam.
Apontei aquele que havia indicado.
— Então, este é o Fantasma, não?
— É o Fantasma. É isso. Aquele ali debaixo do lírio... você consegue ver seu rabo, ali, vê?... se chama Buster, por causa do Buster Keaton. Keaíon estava hospedado aqui quando recebemos as duas carpas mais velhas. E esta aqui é a Princesa.
Princesa era a mais fácil de reconhecer das carpas brancas. Tinha uma cor de creme claro com um borrão de escarlate forte que descia pelas suas costas, distinguindo-a das outras.
— Ela é linda.
— É mesmo. Ela é mesmo uma beleza.
Respirou fundo e começou a tossir uma tosse chiada que sacudia sua fraca constituição. Pela primeira vez, eu o vi como um homem de noventa anos.
— Você está bem?
Ele assentiu com a cabeça.
— Bem, bem, bem. Ossos velhos — disse. — Ossos velhos.
Apertamos as mãos e voltei para o meu trabalho e para a escuridão.
Imprimi todo o texto e o passei por fax para Jacob, no estúdio. No dia seguinte, ele veio ao meu chalé. Parecia aborrecido.
— Está tudo bem? Há algum problema com o esboço?
— É só merda rolando. Fizemos um filme com ... — e ele disse o nome de uma conhecida atriz que havia atuado em alguns filmes de sucesso uns dois anos antes.
— Tem tudo pra dar certo, hein? Só que não é tão jovem quanto já foi e insiste em fazer suas próprias cenas de nudismo e não é um corpo que alguém queira ver, acredite. Bom, o enredo é sobre um fotógrafo que convence mulheres a tirarem a roupa para ele. Então, o sujeito aprisiona as coitadas. Só que ninguém acredita que o cara esteja fazendo isso. Daí, a chefe de polícia — representada pela dona Deixe-Eu-Mostrar-Minha-Bunda-Pelada-Pro-Mundo — percebe que o único jeito de prender o safado é fingindo ser uma das mulheres. Então, ela dorme com ele. Mas tem uma guinada...
— Ela se apaixona por ele?
— Isso mesmo. E percebe que as mulheres serão sempre aprisionadas pelas imagens que os homens fazem delas e, para provar seu amor por ele, quando a polícia chega para prender os dois, põe fogo em todas as fotografias e morre no incêndio. Suas roupas se queimam primeiro. O que você acha disso?
— Bobo.
— Foi o que achamos quando vimos. Daí, despedimos o diretor e montamos o filme novamente. Até fizemos um dia extra de filmagem. Agora, ela está com escuta quando eles transam. E, quando ela começa a se apaixonar, descobre que ele matou seu irmão, ela tem um sonho no qual suas roupas se queimam e, então, sai com a equipe da swat para tentar prender o bandido. Mas ele é morto pela irmã mais nova dela, que também tinha sido aprisionada.
— E ficou melhor?
Ele meneou a cabeça.
— É lixo. Se ela tivesse deixado a gente usar uma duble para as cenas de nudismo, talvez a situação fosse melhor.
— O que você achou da adaptação?
— O quê?
— Da minha adaptação? O material que lhe mandei por fax?
— Claro. Aquele material. Adoramos. Nós todos adoramos. Está muito bom. Realmente formidável. Estamos todos entusiasmados.
— E agora?
— Bom, tão logo todos tenham uma chance de examinar, a gente se encontra e fala sobre isso.
Deu uns tapinhas na minhas costas e foi embora, deixando-me sem nada a fazer em Hollywood.
Decidi escrever um conto. Havia uma idéia que eu tinha tido na Inglaterra antes de viajar. Algo sobre um pequeno teatro no fim do cais. Mágica de palco enquanto chovia. Uma platéia que não conseguia distinguir magia de ilusão e para quem não faria diferença se toda a ilusão fosse real.
Naquela tarde, na minha caminhada, comprei dois livros sobre mágica de palco e ilusões da época vitoriana na livraria "quase-vinte-e-quatro-horas".
Uma história, ou a semente dela, estava na minha cabeça e eu queria explorá-la. Sentei-me em um banco no átrio e folheei os livros. Havia, eu decidi, uma atmosfera específica que buscava.
Lia sobre os Homens dos Bolsos, que tinham os bolsos cheios de todos os pequenos objetos que se possa imaginar e faziam aparecer qualquer coisa que se pedisse. Não havia ilusão, apenas uma extraordinária proeza de organização e memória. Uma sombra caiu sobre a página. Olhei para cima.
— Olá de novo — disse ao velho negro.
— Sinhô — disse ele.
— Por favor, não me chame assim. Faz-me sentir como se eu devesse usar um terno ou coisa parecida. — Disse-lhe meu nome. Ele me disse o seu.
— Piedoso Dundas.
— Piedoso? — Eu não tinha certeza de ter ouvido corretamente. Ele assentiu com a cabeça, orgulhoso.
— Às vezes sou, às vezes não. Era como minha mãe me chamava e é um bom nome.
— Sim.
— Então, o que faz aqui, sinhô.
— Não tenho certeza. Era para estar escrevendo um filme, acho. Ou, pelo menos, esperando que me digam para começar a escrever um.
Ele coçou seu nariz.
— Se começasse agora a contar sobre todas as pessoas do cinema que se hospedaram aqui, poderia ficar uma semana falando e não teria falado sobre a metade delas.
— Quem foram seus favoritos?
— Harry Langdon. Era um cavalheiro. George Sanders. Inglês como você. Ele me disse uma vez: "Ah, Piedoso. Você deve rezar pela minha alma". E eu disse: "sua alma é da sua própria conta, Sr. Sanders", mas rezei por ele da mesma forma. E June Lincoln.
— June Lincoln?
Seus olhos faiscaram, e ele sorriu.
— Era a rainha da tela de prata. Mais bela do que qualquer outra: Mary Pickford, Lillian Gish, Theda Bara ou Louise Brooks... era a mais refinada. Tinha "aquilo" Sabe o que é "aquilo"?
— Sensualidade?
— Mais do que isso. Era tudo com o que você já sonhou. Se visse o retrato de June Lincoln, você ia querer... — Ele não completou, movimentando sua mão em pequenos círculos, como se quisesse capturar as palavras que faltavam.
— Não sei, ajoelhar-se, talvez, como um cavaleiro de armadura brilhante faz para a rainha, June Lincoln era a melhor de todas. Contei para o meu neto sobre ela e ele tentou achar alguma coisa em vídeo. Já não tem mais nada. Ela vive apenas na cabeça de velhos como eu. — Ele deu uns tapinhas na testa.
— Deve ter sido uma mulher e tanto.
Ele fez que sim com a cabeça.
— O que houve com ela?
— Enforcou-se. Alguns dizem que foi porque não ia conseguir se dar bem no cinema falado, mas não é verdade: tinha uma voz que a gente lembrava só de ouvir uma única vez. Macia e sombria, era a voz dela, como um Irish coffee. Alguns dizem que um homem, ou uma mulher, partiu seu coração, ou foi jogo, ou gângsteres, ou álcool. Quem sabe? Aqueles eram tempos loucos.
— Parece que você a ouviu falar.
Ele sorriu, mostrando os dentes.
— Ela disse: "garoto, você pode descobrir o que fizeram com meu xale?", e quando eu voltei com o xale, disse: "você é notável, rapaz". E o homem que estava com ela disse: "June, não provoque o ajudante", e ela sorriu para mim, deu-me cinco dólares e disse: "ele não se importa, não é, rapaz?". Eu só balancei a cabeça. Daí, fez aquela coisa com seus lábios, você sabe?
— Um beicinho?
— Algo assim. Senti aqui. — Ele bateu no peito. — Que lábios. Podiam desmontar um homem.
Mordeu seu lábio inferior e fitou a eternidade. Eu me indaguei em que lugar e em que tempo ele estaria. Então, olhou para mim de novo.
— Você quer ver seus lábios?
— Como assim?
— Venha até aqui. Siga-me.
— O que vamos...? — Imaginei um lábio no cimento, como as impressões de mãos na calçada do Teatro Chinês de Grauman.
Ele sacudiu a cabeça e levou o velho dedo à sua boca. Silêncio. Fechei os livros. Atravessamos o átrio. Quando chegamos ao pequeno lago de peixes, ele parou.
— Olhe a Princesa — disse-me.
— Aquela com a mancha vermelha, não?
Ele assentiu com a cabeça. O peixe me lembrava um dragão chinês: sábio e lívido. Um peixe-fantasma, branco como osso velho, exceto pelo borrão escarlate — uma polegada de comprimento em forma de arco duplo — nas costas. Flutuava no lago, vagueando e pensando.
— Ali está — disse. — Nas costas dela. Vê?
— Não estou entendendo.
Ele fez uma pausa e fitou o peixe.
— Você quer se sentar? — Senti-me muito cônscio da idade do Sr. Dundas.
— Não me pagam para sentar — disse-me muito sério. Então falou, como se estivesse explicando algo para uma criança pequena.
— Eram como deuses, naquele tempo. Hoje, é tudo televisão: heroizinhos. Pessoinhas nas caixas. Eu vejo alguns deles aqui. Pessoinhas. As estrelas dos velhos tempos: eram gigantes pintados de luz prateada, grandes como casas... então a gente dava de cara com elas e, ainda assim, eram grandes. As pessoas acreditavam nelas. Davam festas aqui. Trabalhando aqui, você via o que acontecia. Tinha bebida, erva e coisas que você dificilmente acreditaria. Teve uma festa... o filme se chamava Corações do deserto. Já ouviu falar dele?
Fiz que não com a cabeça.
— Um dos maiores filmes de 1926, lado a lado com Glória a qualquer preço, com Victor McLaglen e Dolores Del Rio, e Ella Cinders, estrelado por Colleen Moore. Ouviu falar deles?
Fiz que não com a cabeça novamente.
— Já ouviu falar de Warner Baxter? Belle Bennet?
— Quem eram?
— Grandes, grandes estrelas em 1926. — Fez uma pausa. — Corações do deserto. Deram uma festa aqui no hotel quando acabaram de rodar. Havia vinho, cerveja e gin. Eram os dias da Lei Seca, mas os estúdios meio que possuíam a polícia. Por isso, ela fazia vistas grossas; e havia comida e um pouco de loucura. Ronald Colman estava lá e Douglas Fairbanks — o pai, não o filho — e todo o elenco e pessoal de set. Uma banda de jazz tocava ali, onde hoje estão aqueles chalés.
Hollywood brindava June Lincoln naquela noite. Ela era a princesa árabe do filme. Naquele tempo, árabe queria dizer paixão e sensualidade. Naquele tempo... bom, as coisas mudam.
Não sei quem começou com aquilo. Ouvi dizer que foi um desafio ou uma aposta. Talvez ela só estivesse bêbada. De qualquer forma, levantou-se enquanto a banda tocava suave e lentamente, andou até aqui, onde estou agora, e mergulhou suas mãos nesse lago. Ela ria, ria, ria...
A Srta. Lincoln pegou o peixe... alcançou e tomou o bichinho com as duas mãos... e o tirou da água. Então, segurou Princesa em frente do rosto.
Fiquei preocupado, porque tinham acabado de trazer estes peixes da China e eles custaram duzentos dólares cada. Isso foi antes de eu tomar conta deles, claro. Não era eu que iria ter de pagar o peixe com meu salário. Mesmo assim, duzentos dólares era um montão de dinheiro naquele tempo.
Então, ela sorriu para nós, inclinou-se e beijou, bem devagar, as costas da criatura. Princesa não se contorceu nem nada, só ficou nas mãos da atriz, que deu um beijo com seus lábios vermelhos como coral e as pessoas da festa riram e aplaudiram.
Ela colocou o peixe de volta no lago e, por um instante, foi como se não quisesse deixar suas mãos... ficou ao lado de June, afocinhando seus dedos. Daí, começaram os fogos de artifício e Princesa nadou para longe.
Seu batom era vermelho, vermelho, vermelho, e ela deixou a marca dos seus lábios nas costas do peixe. Lá, você vê?
Princesa, a carpa branca com a marca vermelho-coral nas costas, agitou uma nadadeira e continuou com sua eterna série de jornadas de trinta segundos ao redor do lago. A marca vermelha parecia-se mesmo com lábios.
Ele polvilhou um punhado de ração sobre a água, e os três peixes moveram-se e arquejaram até a superfície.
Voltei para meu chaié, levando meus livros sobre velhas ilusões. O telefone estava tocando: era alguém do estúdio. Queriam falar sobre o meu trabalho. Um carro me pegaria em trinta minutos.
— Jacob vai estar presente?
Mas a linha já estava muda.
A reunião foi com o Alguém Australiano e seu assistente, um homem com óculos e de terno. Era o primeiro terno que eu via até então, e seus óculos eram de um azul vivo. Ele parecia nervoso.
— Onde você está hospedado? — perguntou o Alguém.
Disse-lhe.
— Não é onde Belushi...?
— Foi o que me disseram.
Concordou com a cabeça.
— Ele não estava sozinho quando morreu.
— Não?
Esfregou um dedo do lado do seu nariz pontudo.
— Havia mais duas pessoas na festa. Ambos eram diretores, tão importantes quanto você possa imaginar. Nem queira saber os nomes. Descobri sobre eles quando fazia o último filme do Indiana Jones.
Silêncio desconfortável. Estávamos numa imensa mesa redonda, apenas os três, e em frente de cada um de nós havia uma cópia do esboço que eu escrevera. Finalmente, eu disse:
— O que vocês acharam?
Ambos assentiram com a cabeça, mais ou menos juntos. Então, tentaram, da melhor forma que podiam, me dizer que tinham odiado, mas sem falar nada que pudesse me aborrecer. Foi uma conversa muito estranha.
— Temos um problema com o terceiro ato — disseram, subentendendo vagamente que o problema não era comigo, com o material, nem mesmo com o terceiro ato, mas com eles.
Queriam que as pessoas fossem mais compreensíveis. Queriam luzes e sombras nítidas, não tons de cinza. Queriam que a heroína fosse um herói. Concordei com a cabeça e tomei notas.
No final da reunião, apertei as mãos do Alguém e seu assistente de óculos de aros azuis me levou pelo labirinto de corredores até encontrarmos o mundo exterior, meu carro e o motorista.
Enquanto andávamos, perguntei se o estúdio tinha, em algum lugar, uma fotografia de June Lincoln.
— Quem? — O nome dele, conforme acabou se revelando, era Greg. Tirou um pequeno caderno de notas e escreveu algo com um lápis.
— Era uma estrela do cinema mudo. Famosa em 1926.
— Trabalhava nesse estúdio?
— Não faço idéia — admiti. — Mas era famosa. Até mais famosa do que Marie Provost.
— Quem?
— "A vencedora que virou jantar de um cachorro". Uma das maiores estrelas do cinema mudo. Morreu na pobreza quando começou o cinema falado e foi comida pelo seu dachshund, Nick Lowe escreveu uma canção sobre ela.
— Quem?
— "Conheci a noiva quando ela dançava rock'n'roll". Seja como for, sobre June Lincoln, será que alguém pode me achar uma fotografia?
Ele escreveu alguma coisa na caderneta. Olhou fixamente a anotação por um momento. Então, acenou afirmativamente com a cabeça. Tínhamos saído na luz do sol e meu carro estava à espera.
— A propósito — disse ele —, você devia saber que ele é só papo.
— Como?
— Só papo. Não eram Spielberg e Lucas que estavam com Belushi. Eram Bette Midler e Linda Ronstadt. Foi uma orgia de cocaína. Todo mundo sabe disso. Ele é só papo. E era só um contador júnior do estúdio, pelo amor de Deus, no filme do Indiana Jones. Como se o filme fosse dele. Babaca.
Apertamos as mãos. Entrei no carro e voltei ao hotel.
O fuso horário pegou-me naquela noite, e acordei, completa e irreversível- mente, às quatro da manhã.
Levantei-me, urinei, vesti meus jeans (eu durmo de camiseta) e saí do quarto.
Queria ver as estrelas, mas as luzes da cidade eram brilhantes demais, o ar muito sujo. O céu era de um amarelo imundo, sem estrelas e pensei em todas as constelações que conseguia ver no interior inglês; senti, pela primeira vez, profunda e ridiculamente, saudade de casa.
Senti falta das estrelas.
Queria trabalhar no conto ou continuar com o roteiro do filme. Em vez disso, trabalhei num segundo rascunho do esboço.
Diminui o número de filhos de Manson de doze para cinco e deixei ainda mais claro, desde o começo, que um deles, agora um homem, não era mau, diferentemente dos outros quatro.
Mandaram um exemplar de uma revista de filmes. Cheirava a papel velho de baixa qualidade e estava carimbada em roxo com o nome do estúdio e com a palavra arquivo embaixo. A capa mostrava John Barrymore num barco.
O artigo em seu interior era sobre a morte de June Lincoln. Achei difícil de ler e ainda mais difícil de entender: aludia aos vícios proibidos que a levaram à morte, até aí pude entender, mas era como se estivesse falando numa escrita cifrada da qual os leitores modernos precisassem da chave; ou talvez, pensando melhor, o autor do seu obituário não soubesse de nada e estivesse fazendo alusões vazias.
Mais interessantes — de qualquer maneira, mais compreensíveis — eram as fotos. Uma de página inteira, circundada em preto, de uma mulher de olhos enormes e sorriso gentil, fumando um cigarro (a fumaça tinha sido pintada com aerógrafo, a meu ver muito desajeitadamente: será que as pessoas caíam nesses truques toscos?); uma outra foto dela num abraço encenado com Douglas Fairbanks; uma pequena fotografia da moça de pé na beira de um carro em movimento, segurando dois cachorrinhos minúsculos.
Não era, pelas fotografias, de uma beleza contemporânea. Faltava-lhe a transcendência de uma Louise Brooks, a sensualidade de uma Marilyn Monroe, a elegância vulgar de uma Rita Hayworth. Era uma estrelinha dos anos vinte tão insípida quanto qualquer outra estrelinha dos anos vinte. Não vi mistério nos seus olhos enormes, seu cabelo curto. Tinha os lábios em forma de arco de cupido, perfeitamente desenhados com maquiagem. Não tive idéia de como ela se pareceria se estivesse viva e por aí hoje. Mesmo assim, era real; tinha vivido. Fora venerada e adorada pelas pessoas nos palácios do cinema. Havia beijado o peixe e caminhado pelo átrio do meu hotel setenta anos atrás: nada em termos de tempo na Inglaterra, mas uma eternidade em Hollywood.
Entrei para falar do material. Nenhuma das pessoas com quem eu havia falado antes estava lá. Em vez disso, fui levado até um homem muito jovem, num pequeno escritório, que nunca sorria e que me disse o quanto tinha adorado o trabalho e o quanto estava satisfeito pelo estúdio ter a posse do livro para o cinema.
Disse que achava que a personagem Charles Manson era particularmente legal e que, talvez — "uma vez que estivesse totalmente dimensionado" —, Manson poderia ser o próximo Hannibal Lecter.
— Mas. Humm. Manson é real. Está preso agora. Sua gente matou Sharon Tate.
— Sharon Tate?
— Era uma atriz. Uma estrela de cinema. Estava grávida e foi morta por eles. Era casada com Polanski.
— Roman Polanski?
— O diretor. Sim.
Ele franziu a testa.
— Mas estamos nos associando a Roman Polanski numa negociação.
— Isso é bom. Ele é um bom diretor.
— Ele sabe sobre isto?
— Sobre o quê? O livro? Nosso filme? A morte de Sharon Tate?
Ele sacudiu a cabeça: nenhuma das alternativas acima.
— É um negócio de três filmes. Julia Roberts está semi vinculada. Você disse que Roman Polanski não sabe sobre este esboço?
— Não, o que eu disse foi...
Ele olhou no seu relógio.
— Onde você está hospedado? — perguntou. — Nós hospedamos você em um lugar bom?
— Sim, obrigado — disse eu. — A dois chalés de distância do quarto onde Betushi morreu.
Esperava outra confissão sobre mais duas estrelas; que ele me contasse que Belushi tinha esticado as botas em companhia de Julie Andrews e Miss Piggy, dos Muppets. Eu estava enganado.
— Belushi morreu? — disse. Sua jovem testa franzida. — Belushi não está morto. Estamos fazendo um filme com Belushi.
— Foi seu irmão — expliquei. — Seu irmão morreu anos atrás.
Deu de ombros.
— Parece uma bosta — disse. — Da próxima vez que vier, diga-lhes que quer ficar no Bel Air. Quer que mudemos você para lá?
— Não, obrigado — respondi. — Já me acostumei com o lugar onde estou. E sobre o material? — perguntei.
— Deixe conosco.
Eu me vi fascinado por duas velhas ilusões cênicas que encontrei nos meus livros: O sonho do artista e A armação encantada. Eram metáforas para alguma coisa, tinha certeza disso, mas a história que devia acompanhá-las ainda não estava lá. Escrevi sentenças iniciais que não viravam parágrafos iniciais; parágrafos iniciais que nunca viraram páginas iniciais. Escrevia no computador e então saía sem gravar nada.
Sentei-me no átrio e fitei as duas carpas brancas e a outra, branca e escarlate. Pareciam, pensei, desenhos de peixe do Escher, o que me surpreendeu, pois nunca me ocorrera que havia qualquer coisa, por menor que fosse, realista nos desenhos de Escher.
Piedoso Dundas estava lustrando as folhas das plantas. Tinha um vidro de polidor e um pano.
— Oi, Piedoso.
— Sinhô.
— Belo dia.
Ele fez que sim com a cabeça, tossiu, bateu no peito com seu punho e assentiu com a cabeça um pouco mais. Afastei-me dos peixes e sentei no banco.
— Por que eles não aposentaram você? — perguntei, — Você não deveria ter se aposentado quinze anos atrás?
Ele continuou lustrando.
— Claro que não. Eu sou uma referência. Eles podem dizer que todas as estrelas do céu se hospedaram aqui, mas eu conto às pessoas o que Cary Grant tomava de café da manhã,
— Você se lembra?
— Lembro nada. Mas eles não sabem disso. — Tossiu de novo. — O que está escrevendo?
— Bom, a semana passada escrevi a adaptação pra um filme. Então, escrevi outra adaptação. Agora, estou esperando por... alguma coisa.
— Então, o que você está escrevendo?
— Uma história que ainda não saiu direito. É sobre um truque de mágica da era vitoriana chamado O sonho do artista. Um artista sobe ao palco carregando uma grande tela, que coloca num cavalete. Há uma pintura de mulher nela. Ele olha a pintura e se desespera, pois acha que nunca vai ser um artista de verdade. Então, senta e adormece. A pintura cria vida, desce da moldura e lhe diz para não desistir; que continue lutando; que, um dia, será um grande pintor. As luzes diminuem. Daí, ele acorda e a mulher é uma pintura de novo...
— ... e a outra ilusão — eu disse à mulher do estúdio, que cometera o erro de fingir interesse no começo da reunião — chamava-se A armação encantada. Uma armação de janela é pendurada no ar e rostos surgem nela, mas não há ninguém por lá. Acho que há um estranho tipo de paralelo entre a armação encantada e a televisão: afinal, parece uma candidata natural.
— Eu gosto de Seinfeld — disse ela. — Você assiste a esse programa? É sobre coisa alguma. Quer dizer, há episódios inteiros sobre coisa alguma. Eu gostava do Garry Shandling antes de fazer o novo programa e ficar ruim.
— As ilusões — continuei —, como todas as grandes ilusões, nos fazem questionar a natureza da realidade. Mas também armam — trocadilho, intencional, acho — a questão daquilo em que se transformará o entretenimento. Filmes antes de haver filmes, televisão antes mesmo de haver televisão.
Ela franziu a testa.
— Isso é um filme?
— Espero que não. É um conto, se conseguir escrevê-lo.
— Então, vamos falar do filme. — Ela se agitou atrás de uma pilha de notas. Tinha uns vinte e poucos anos e parecia tão atraente quanto estéril. Eu me indagava se era uma das mulheres que estiveram no café da manhã no meu primeiro dia; uma Deanna ou uma Tina. Pareceu intrigada com uma coisa e leu: "Conheci a noiva quando ela dançava rock'n'roll".
— Ele escreveu isso? Isso não é o filme.
Ela assentiu.
— Agora, tenho de dizer que o material é um tanto... contencioso. Essa coisa de Manson... bom, não estamos certos se vai decolar. Podemos tirar?
— Mas essa é a parte essencial. Quer dizer, o livro se chama Filhos do homem; é sobre os filhos de Manson. Se ele for tirado, não sobra muita coisa, sobra? Quer dizer, esse é o livro que vocês compraram. — Levantei-o para ela ver: meu talismã. — Tirar o Manson é como... não sei, como pedir uma pizza e, depois, quando ela chega, reclamar porque é chata, redonda e coberta com molho de tomate e queijo.
Ela não deu indicação alguma de ter ouvido o que eu disse. Perguntou:
— O que você acha de Badd como título. Badd com dois d's.
— Não sei. Por quê?
— Não queremos que as pessoas pensem que é religioso. Filhos do homem. Soa como se fosse meio anticristão.
— Bom, eu realmente até que sugiro que a força que possui os filhos de Manson é, de alguma maneira, um tipo de poder demoníaco.
— Sugere?
— No livro.
Ela me olhou com um olhar penalizado, do tipo que só as pessoas que sabem que livros são, na melhor das hipóteses, propriedades dos estúdios nas quais os filmes podem vagamente se basear são capazes de lançar sobre o resto de nós.
— Bem, não acho que o estúdio veja isso como apropriado — disse.
— Você sabe quem foi June Lincoln? — perguntei-lhe.
Ela meneou a cabeça negativamente.
— David Gambol? Jacob Klein?
Mais uma vez, um pouco impacientemente, fez que não com a cabeça. Deu-me, então, uma lista datilografada de coisas que ela sentia que precisavam ser arrumadas, que era quase tudo. A lista era PARA: mim e uma série de outras pessoas, cujos nomes não reconheci, e era DE: Donna Leary.
Eu disse: "Obrigado, Donna", e voltei para o hotel.
Fiquei mal-humorado por um dia. Então, pensei em um jeito de refazer o trabalho que, supus, resolveria toda a lista de reclamações de Donna.
Outro dia pensando, mais alguns escrevendo e passei a terceira versão para o estúdio por fax.
Piedoso Dundas trouxe-me seu livro de recortes para eu ver, uma vez que tinha certeza do meu genuíno interesse em June Lincoln — batizada, descobri, conforme o mês e o presidente, nascida Ruth Baumgarten em 1903. Era um velho álbum de recordações encadernado em couro, do tamanho e peso de uma Bíblia dessas grandes.
Tinha vinte e quatro anos quando morreu.
— Queria que você pudesse ter visto a Srta. Lincoln — disse Piedoso Dundas. — Queria que alguns dos seus filmes tivessem sobrevivido. Ela era tão grande. Era a maior de todas as estrelas.
— Ela era uma boa atriz?
Ele balançou a cabeça decididamente.
— Não.
— Era muito bonita? Se era, simplesmente não estou notando.
Balançou a cabeça de novo.
— A câmara gostava dela, com certeza. Mas não era isso. A última fila do coro do teatro de revista tinha uma dúzia de garotas mais bonitas do que ela.
— Então o que era?
— Era uma estrela. — Ele deu de ombros. — É o que quer dizer ser uma estrela.
Virei as páginas; recortes, críticas de filmes dos quais nunca tinha ouvido falar — filmes cujos únicos negativos e reproduções tinham sido perdidos muito tempo atrás, largados à toa, ou destruído pelo corpo de bombeiros — negativos de nitrato são famosos pelo risco de incêndio —; outros recortes de revistas de cinema: June Lincoln encenando, June Lincoln no set de A camisa do penhorista, June Lincoln vestindo um enorme casaco de peles — que, de certa forma, datava a fotografia ainda mais do que o estranho corte de cabelo e os cigarros ubíquos,
— Você a amava?
Ele meneou a cabeça.
— Não como se ama uma mulher... — disse.
Houve uma pausa. Ele abaixou e virou as páginas do álbum.
— E minha mulher teria me matado se me ouvisse falar isso...
Outra pausa.
— Mas sim. Branquinha e magricela. Acho que amava, sim.
Fechou o álbum.
— Mas ela não está morta para você, está?
Ele sacudiu a cabeça. Então, foi embora, mas deixou o álbum para eu ver.
O segredo da ilusão de O sonho do artista era o seguinte: carregava-se a moça para o palco, que segurava com firmeza as costas da tela. A tela era sustentada por fios de arames escondidos, assim enquanto o artista carregava, casual e facilmente, a peça até o cavalete, estava também levando a moça. A pintura no cavalete era disposta como uma persiana de rolo que era enrolada para baixo ou para cima.
A armação encantada, por outro lado, era literalmente feita com espelhos: um espelho colocado em um ângulo que refletia os rostos de pessoas que ficavam fora da vista, nos bastidores.
Até hoje muitos mágicos usam espelhos em seus números para fazer você pensar que está vendo algo que não está.
É fácil, quando se sabe como é feito.
— Antes de começarmos — disse ele —, devo dizer que não leio esboços. Acho que eles inibem minha criatividade. Não se preocupe, minha secretária faz um resumo. Assim, ganho tempo.
Tinha uma barba, cabelo comprido e parecia um pouco com Jesus, apesar de duvidar de que Jesus tivesse dentes tão perfeitos. Parecia ser a pessoa mais importante com quem eu havia falado até então. Seu nome era John Ray e até mesmo eu ouvira a seu respeito, apesar de não estar totalmente certo sobre o que ele fazia: seu nome tendia a aparecer no começo dos filmes, próximo a palavras como produtor executivo. A voz do estúdio que havia marcado a reunião disse-me que eles, o estúdio, estavam muito entusiasmados pelo fato de Ray ter-se "vinculado ao projeto".
— O resumo não inibe sua criatividade também?
Ele sorriu mostrando os dentes.
— Bem, todos nós achamos que você fez um trabalho surpreendente. Formidável, Há só umas coisinhas com as quais temos problemas.
— Tais como?
— Bom, a coisa do Manson. E a idéia sobre essas crianças crescendo. Então, discutimos algumas possibilidades no escritório: uma tentativa. Tem um cara chamado Jack Badd — dois d's, idéia de Donna.
Donna inclinou a cabeça modestamente.
— Ele é preso por atos satânicos, frito na cadeira elétrica e, enquanto morre, jura que voltará e destruirá a todos. Corta e, nos dias de hoje, vemos quatro garotos obcecados por um vídeo game chamado Be Badd. A cara do Jack nele. E, enquanto jogam, ele como que começa a possuir o bando. Talvez pudesse haver algo estranho com seu rosto, como um Jason ou um Freddy.
Ele parou como se estivesse buscando aprovação. Então, perguntei:
— E quem está fazendo esses vídeo games?
Ele apontou um dedo para mim e disse:
— Você é o escritor, meu anjo. Quer que a gente faça todo o trabalho pra você?
Não falei nada. Não sabia o que dizer.
Pense cinema, pensei. Eles entendem de cinema. Falei:
— Mas, é claro, o que você está propondo é como fazer Os meninos do Brasil sem Hitler.
Ele pareceu confuso.
— Foi um filme de Ira Levin — disse eu. Nem um brilho de reconhecimento nos seu olhos.
— O bebê de Rosemary — ele continuou com o olhar vago. — Sliver. Concordou com a cabeça; em algum lugar, caiu a ficha.
— Entendido — disse. — Você escreve a parte de Sharon Stone e nós moveremos céus e terras pra consegui-la pra você. Tenho um acesso ao pessoal dela.
Então, eu saí.
Estava frio naquela noite e não deveria estar frio em Los Angeles; o ar, mais do que nunca, cheirava a pastilhas para tosse.
Uma antiga namorada vivia na área de Los Angeles e resolvi tentar encontrá-la. Liguei para o número que tinha e comecei uma busca que durou a maior parte da noite. As pessoas davam-me números e eu ligava; outras me davam mais números, e eu ligava também.
Finalmente, disquei um número e reconheci sua voz.
— Você sabe onde estou? — perguntou ela.
— Não — respondi —, deram-me esse número.
— Aqui é um quarto de hospital — disse. — Minha mãe teve hemorragia cerebral.
— Sinto muito. Ela está bem?
— Não.
— Sinto muito.
Houve um silêncio estranho.
— E você, como está? — indagou,
— Muito mal — disse eu.
Contei-lhe tudo o que tinha acontecido comigo até então. Disse-lhe como me sentia.
— Por que as coisas são desse jeito? — quis saber.
— Porque eles estão assustados.
— Por que assustados? O que assusta essa gente?
— Porque você é apenas tão bom quanto os últimos sucessos aos quais você pôde vincular seu nome.
— Hein?
— Se você disser sim a alguma coisa, o estúdio pode fazer o filme e gastar vinte ou trinta milhões de dólares. Se for um fracasso, você terá seu nome vinculado a ele e perderá status. Se disser não, não vai correr esse risco.
— Sério?
— Mais ou menos assim
— Como você sabe tanto sobre isso? Sua área de trabalho é música, não filmes.
Ela riu entediada.
— Eu moro aqui. Todos que vivem nesta cidade conhecem esse troço. Já tentou perguntar às pessoas sobre os roteiros delas?
— Não.
— Tente alguma hora. Pergunte a qualquer um. O frentista do posto de gasolina. Qualquer um. Todos têm um.
Alguém falou alguma coisa para ela, ela respondeu e disse:
— Olha, preciso ir — e desligou.
Eu não consegui encontrar o aquecedor, se é que o quarto tinha um, e estava congelando no meu chalezinho, igual àquele em que Belushi tinha morrido, a mesma tinta insípida na parede, sem sombra de dúvida, e a mesma umidade gelada no ar.
Tomei um banho quente para me esquentar, mas fiquei ainda mais gelado depois que acabei.
Peixes ornamentais brancos deslizando para a frente e para trás na água, esquivando-se e voando entre as folhas de lírio. Um deles tinha uma marca escarlate nas costas e poderia, supostamente, ter tido a forma perfeita de lábios; o estigma miraculoso de uma deusa quase esquecida. O céu cinza da manhã refletia-se no lago.
Olhei para ele, melancolicamente.
— Você está bem ?
Virei-me. Piedoso Dundas estava ao meu lado.
— Está de pé cedo.
— Dormi mal. Frio demais.
— Você devia ter ligado para a recepção. Eles teriam mandado um aquecedor e mais cobertores.
— Não me ocorreu.
Sua respiração soava estranha; respirava com dificuldade.
— Você está bem ?
— Claro que não. Sou velho, Quando você chegar à minha idade, garoto, também não vai se sentir bem. Mas eu vou estar aqui quando você tiver ido. Como vai o trabalho?
— Sei lá. Parei de trabalhar no material e estou obcecado por O sonho do artista, a história que estou criando sobre mágica de palco da era vitoriana. Acontece num balneário do litoral inglês, enquanto chove, com o mágico fazendo mágicas no palco, o que, de alguma forma, muda a platéia. Toca seus corações.
Ele balançou a cabeça vagarosamente.
— O sonho do artista... — disse. — Então, você se vê como o artista ou o mágico?
— Não sei — respondi, — Não acho que seja nenhum deles.
Virei-me para ir, mas algo me ocorreu.
— Seu Dundas — perguntei —, você tem um roteiro? Um que tenha escrito?
Ele balançou a cabeça.
— Você nunca escreveu um roteiro?
— Não eu — disse ele,
— Jura?
Ele riu, arreganhando os dentes.
— Juro — garantiu.
Voltei para o meu quarto. Manuseei meu exemplar capa-dura de Filhos do homem publicado no Reino Unido e me perguntei por que publicaram algo escrito tão desajeitadamente; indaguei-me por que Hollywood o havia comprado e por que não o queriam, agora que o tinham.
Tentei escrever O sonho do artista de novo e falhei miseravelmente. As personagens estavam congeladas. Pareciam incapazes de respirar, de se mover ou de falar.
Fui até o banheiro e mijei um jorro amarelo-brilhante contra a porcelana. Uma barata correu pela prata do espelho.
Voltei ao meu quarto, abri um novo documento e escrevi:
Penso na Inglaterra sob chuva,
Estranho teatro no cais, um rastro
De medo, magia, memória turva.
Medo quem sabe da vil loucura,
Magia eloqüente, qual o bardo
Penso na Inglaterra sob chuva.
Solidão... enigma além da curva –
Vazio que abriga meu fracasso,
De medo, magia, memória turva.
Eu penso numa atiaga recurva
Em magos, mentiras... num abraço
Penso na Inglaterra sob chuva...
Sobreposição de formas duras:
Espada, mão e um graal em aço
De medo, magia, memória turva.
O mago age com desembaraço,
Encena verdades, qual palhaço.
Penso na Inglaterra sob chuva
De medo, magia, memória turva.
Não sabia se era bom ou ruim, mas não importava. Tinha escrito algo novo e diferente que não escrevera antes e senti-me maravilhoso.
Liguei para o serviço de quarto e pedi café da manhã, um aquecedor e dois cobertores extras.
No dia seguinte, escrevi um esboço de seis páginas para um filme chamado Os Badd, no qual Jack Badd, um assassino serial, com uma enorme cruz talhada na testa, é morto na cadeira elétrica e volta num vídeo game para se apossar de quatro jovens. O quinto rapaz derrota Badd ao queimar a cadeira elétrica onde ele havia sido morto, que agora, conforme eu tinha decidido, estava em exposição no museu de cera onde a namorada do jovem herói trabalhava durante o dia. À noite, ela era uma dançarina exótica.
A recepção do hotel passou o material para o estúdio por fax e eu fui para cama.
Dormi com a esperança de que o estúdio o recusasse formalmente e que eu pudesse voltar para casa.
No teatro dos meus sonhos, um homem de barba e de boné de baseball carregava uma tela de cinema para o palco e depois ia embora. A tela ficava pendurada no ar, sem nada que a sustentasse. Um filme mudo começou a bruxulear sobre ela: uma mulher saía dele e me fitava. Era June Lincoln que tremeluzia na tela e foi June Lincoln quem desceu da tela, sentando-se na beira da minha cama.
— Você vai me dizer para não desistir? — perguntei-lhe.
De alguma forma, tinha idéia de que era um sonho. Lembro, vagamente, de entender por que aquela mulher era uma estrela, lembro de lamentar que nenhum dos seus filmes tenha sobrevivido. Ela era realmente linda no meu sonho, apesar da marca lívida ao redor do seu pescoço.
— Por que faria isso? — perguntou. No meu sonho, ela cheirava a gin e a celulóide velho, embora não me lembre do último sonho que tive no qual consegui sentir qualquer cheiro.
— Eu saí, não saí?
Daí, levantou-se e andou pelo quarto.
— Não acredito que este hotel ainda esteja de pé — disse. — Eu costumava trepar aqui. — Sua voz era cheia de estalos e chiados. Voltou para a cama e me fitou, como um gato faz com um buraco de rato.
— Você me venera? — indagou.
Balancei negativamente a cabeça. Veio até mim e tomou minha mão de carne na sua de prata.
— Já não se lembram de mais nada. É uma cidade de trinta minutos.
Havia algo que eu tinha de lhe perguntar:
— Onde estão as estrelas? — quis saber. — Olho para o céu, mas elas não estão lá.
Ela apontou para o chão do chalé.
— Você tem procurado nos lugares errados — explicou.
Eu não havia notado que o chão do chalé era uma calçada e cada pedra do calçamento continha uma estrela e um nome — nomes que eu não conhecia: Clara Kimball Young, Linda Arvidson, Vivian Martin, Norma Talmadge, Olive Thomas, Mary Miles Minter, Seena Owen...
June Lincoln apontou para a janela do chalé:
— E lá fora.
A janela estava aberta, e por ela eu podia ver toda a Hollywood espalhada aos meus pés — a vista das colinas: uma infinita extensão de luzes cintilantes multicoloridas.
— Não são melhores que estrelas? — perguntou.
E eram. Percebi que podia ver constelações nas ruas, lâmpadas e carros. Concordei com a cabeça.
— Não se esqueça de mim — sussurrou, mas o fez de uma forma triste, como se soubesse que eu me esqueceria.
Acordei com o telefone tocando estridentemente. Atendi, rosnei um resmungo no bocal.
— Aqui é Gerry Quoint, do estúdio. Precisamos ter uma reunião de almoço com você.
Resmungo alguma coisa, resmungo.
— Vamos mandar um carro — disse. — O restaurante é mais ou menos a meia hora daí,
O restaurante era arejado, espaçoso e verde; estavam me esperando.
A essa altura, eu teria me surpreendido se reconhecesse alguém. John Ray, fui informado entre aperitivos, tinha "desistido do projeto em virtude de discordância contratual", e Donna tinha "obviamente" ido com e!e.
Os dois homens usavam barba e um tinha a pele ruim. A mulher era magra e parecia agradável.
Perguntaram-me onde eu estava hospedado e, quando lhes disse, um dos barbudos contou-nos (primeiro fazendo-nos concordar que aquilo não sairia dali) que um político chamado Gary Hart e um dos músicos da banda Eagles estavam se drogando com Belushi, quando ele morreu.
Depois disso, disseram-me que estavam esperando pela história.
Perguntei:
— Filhos do homem ou Os Badd? — disse-lhes — porque tenho um problema com o último.
Eles se mostraram confusos.
Era, contaram-me, para Conheci a noiva quando ela dançava rock'n'roll, que era, explicaram, tanto um Alto Conceito quanto um Sentir-se Rem. Também era, acrescentaram, Muito Atual, o que era muito importante numa cidade onde uma hora atrás é considerado História Antiga.
Disseram-me que seria bom se nosso herói pudesse resgatar a jovem senhora do seu casamento sem amor e que, no final, dançassem rock'n'roll juntos.
Expliquei-lhes que teriam de comprar os direitos para o filme de Nick Lowe, que escrevera a canção, e, em seguida, que não, não sabia quem era seu agente.
Deram um sorriso largo e me asseguraram que aquilo não seria um problema. Sugeriram que eu ponderasse sobre o projeto antes de começar o esboço e cada um citou um casal de jovens atores para eu ter em mente quando estivesse bolando a história. Apertei a mão de todos e lhes disse que certamente faria assim. Mencionei que poderia trabalhar melhor no projeto de volta à Inglaterra. E eles disseram que tudo bem.
Alguns dias antes, tinha perguntado a Piedoso Dundas se alguém estava com Belushi na noite em que ele morreu. Se alguém soubesse, imaginei, seria Dundas.
— Morreu só — disse Piedoso Dundas, velho como Matusalém, sem piscar. — Corto meu pescoço se alguém estava com ele. Morreu só.
Senti-me estranho em deixar o hotel. Fui até a recepção:
— Vou fechar a conta esta tarde.
— Muito bem, senhor.
— Seria possível para você... o, hã, o jardineiro. Seu Dundas. Um senhor idoso. Não sei. Não o vejo há dois dias. Gostaria de dizer adeus.
— Um dos jardineiros?
— Sim.
Ela me olhou confusa. Era muito bonita e seu batom era cor de amora. Indaguei-me se estava esperando para ser descoberta. Pegou o telefone e falou, mansamente.
E então:
— Sinto muito, senhor. Seu Dundas não aparece há alguns dias.
— Você poderia me dar o telefone dele?
— Sinto muito, senhor. Não é nossa política.
Ela me olhou profundamente enquanto falava, deixando-me ver que realmente sentia muito...
— Como vai o seu roteiro? — indaguei.
— Como você sabe? — perguntou.
— Bem...
— Está na mesa de Joel Silver — explicou. — Meu amigo, Arnie, que escreve comigo e é um mensageiro especial, ele o deixou no escritório do Joel Silver, como se tivesse vindo do escritório de um agente ou de outro lugar.
— Boa sorte — disse-lhe.
— Obrigada — retribuiu e sorriu com seus lábios de amora.
Havia dois Dundas, P. na lista telefônica, o que pensei ser tanto incomum e disse algo sobre os Estados Unidos, ou pelo menos Los Angeles. O primeiro número revelou uma Persephone Dundas. O segundo, quando perguntei por Piedoso Dundas, uma voz de homem indagou:
— Quem é?
Disse-lhe meu nome, que estava hospedado no hotel e que tinha algo que pertencia ao Senhor Dundas.
— Moço, meu avô morreu. Morreu a noite passada.
O choque faz com que os clichês aconteçam de verdade: senti o sangue sumir do meu rosto; prendi a respiração.
— Sinto muito. Eu gostava dele.
— É
— Deve ter sido bem repentinamente.
— O vovô era velho. Estava com tosse.
Alguém perguntou com quem o rapaz estava falando, e ele respondeu "ninguém", então disse:
— Obrigado por ligar.
Senti-me atordoado.
— Olha, estou com o álbum de recordações dele. Ele deixou comigo.
— Aquela coisa de filmes velhos?
— Exato.
Uma pausa.
— Pode ficar. Aquela coisa não serve para nada. Escute, moço, tenho de ir.
Um clique e a linha ficou muda.
Fui guardar o livro na minha sacola e fiquei espantado, quando uma lágrima salpicou a capa de couro descorado, ao descobrir que estava chorando.
Parei ao lado do lago ornamental pela última vez para dizer adeus a Piedoso Dundas e a Hollywood.
Três carpas fantasmas vagavam, agitando, vez por outra, as barbatanas no eterno presente do lago.
Lembrei-me dos seus nomes: Buster, Fantasma e Princesa, mas não havia mais jeito de alguém ser capaz de distingui-las.
O carro estava esperando por mim, na entrada do hotel. Foi uma viagem de trinta minutos até o aeroporto, e eu já começava a me esquecer.
MUDANÇAS
Mais tarde, mostrariam a morte da sua irmã, o câncer que comeu sua vidinha de doze anos, tumores do tamanho de ovos de pato no seu cérebro, e ele um garoto de sete anos, ranho no nariz e cabelo à escovinha, vendo-a morrer no hospital branco com seus grandes olhos castanhos, e eles diriam "isso foi o começo", e talvez tenha sido.
Em Reiniciar (diretor Robert Zemeckis, 2018), o bioépico, cortam para sua adolescência, e ele está vendo seu professor de ciências morrer de AIDS, depois de terem discutido sobre a dissecação de um grande sapo de estômago pálido
— Por que temos de desmembrar o bichinho? — diz o jovem Rajit, enquanto a música aumenta. — Em vez disso, não deveríamos dar-lhe vida?
Seu professor, representado pelo falecido James Earl Jones, parece envergonhado e, então, inspirado, ergue a mão do leito de hospital e toca o ombro ossudo do garoto.
— Bem, se alguém pode fazer isso, Rajit, esse alguém é você — diz num resmungo baixo.
O garoto assente com a cabeça e nos fita com uma dedicação em seus olhos que beira o fanatismo. Isso nunca aconteceu.
É um dia cinzento de novembro e agora Rajit é um homem de quarenta e poucos anos, de óculos de aros escuros, os quais não está usando no momento, A falta dos óculos enfatiza sua nudez. Sentado na banheira enquanto a água esfria, ensaia a conclusão do seu discurso. Ele encurva os ombros no dia-a-dia, embora não esteja encurvado agora, e considera suas palavras antes de falar. Não é um bom orador.
O apartamento no Brooklyn, que divide com outro cientista e com um bibliotecário, está vazio hoje. Seu pênis está encolhido e parece uma noz na água tépida.
— Isso significa — diz devagar em voz alta — que a guerra contra o câncer foi vencida.
Então, faz uma pausa, ouve a pergunta de um repórter imaginário que está do outro lado do banheiro.
— Efeitos colaterais? — pergunta numa voz que ecoa pelo banheiro. — Sim, há alguns. Mas, até onde pudemos averiguar, nada que crie mudanças permanentes.
Ele sai da banheira de porcelana gasta e anda, nu, até o vaso sanitário, onde vomita, violentamente, o medo da platéia trespassando-o como uma faca de estripar. Quando não há mais nada para vomitar e quando a ânsia cede, Rajit enxágua sua boca com Listerine, veste-se e pega o metrô até o centro de Manhattan.
É, conforme a revista Time salientará, uma descoberta que "mudaria a natureza da Medicina tão fundamentalmente e teria um efeito tão importante quanto a descoberta da penicilina".
— E — diz Jeff Goldblum, fazendo o papel do Rajit adulto no bioépico — se você pudesse simplesmente reajustar o código genético do corpo? Muitas doenças acontecem porque o corpo se esqueceu do que deveria fazer. O código ficou embaralhado. O programa se corrompeu. E se... você pudesse consertar?
— Você é louco — replica, no filme, sua loira e encantadora namorada; na vida real a vida sexual de Rajit é uma série de transações comerciais intermitentes entre ele e os jovens da Agência de Acompanhantes AAA-Ajax.
— Ei — diz Jeff Goldbluin, explicando melhor do que Rajit jamais faria —, é como um computador. Em vez de arrumar os erros causadas por um programa corrompido um a um, sintoma a sintoma, você pode simplesmente reinstalar o programa. Toda a informação está lá. Temos apenas de dizer para nossos corpos verificarem novamente o RNA e o DNA, reler o programa se você preferir, e, então reiniciar, como um computador,
A atriz loira sorri e o cala com um beijo, divertida, impressionada e apaixonada.
A mulher tem câncer no baço, nos nodos linfáticos e no abdome: linfoma não-Hodgkin. Também tem pneumonia. Concordou com o pedido de Rajit de se submeter a um tratamento experimental. Também sabe ela que a afirmação de que se pode curar o câncer é ilegal nos Estados Unidos. Era uma mulher gorda até recentemente. Perdeu peso, lembrando a Rajit um boneco de neve ao sol: a cada dia derretia, a cada dia ficava, ele percebia, menos definida.
— Não é uma droga conforme o que se entende por droga — diz ele. — É um conjunto de informações químicas.
Ela não tem expressão. Ele injeta duas ampolas de um líquido claro nas suas veias.
Logo ela dorme.
Quando acorda, está livre do câncer. Mas morre de pneumonia logo depois disso.
Rajit passou os dois dias que antecederam sua morte indagando-se como explicaria o fato de que, como a autópsia demonstrou sem sombra de dúvidas, a paciente agora tinha pênis e era, em todo aspecto funcional e cromossômico, um homem.
Vinte anos mais tarde, num minúsculo apartamento em Nova Orleans (embora pudesse muito bem ser em Moscou, Manchester, Paris ou Berlim). Esta noite será a grande noite e Jo/e vai causar estardalhaço.
A escolha é entre um vestido de corte francês do século XVIII, no estilo Polonaise, de crinolina (anquinha de fibra de vidro, corpete escarlate bordado com decote e armação de arame) e uma réplica da roupa de corte de Sir Phillip Sydney em veludo negro e fios de prata, completada com gola de tufos engomados e enchimento sobre os órgãos sexuais. Finalmente, e depois de avaliar todas as opções, Jo/e opta por prexeca em detrimento do bilau.
Doze horas para sair; Jo/e abre o vidro com as pílulas vermelhas, cada comprimidinho marcado com um X, e toma dois. São dez da manhã, e Jo/e vai para a cama, começa a se masturbar, pênis semi-ereto, mas adormece antes de gozar.
O quarto é muito pequeno. Roupas penduradas em qualquer superfície, uma embalagem vazia de pizza no chão. Em geral, Jo/e ronca alto, mas quando está livre-reiniciando não faz qualquer ruído. Aparentemente, está em coma.
Jo/e acorda às dez da noite, sentindo-se renovado. No começo, quando Jo/e começou a freqüentar festas, cada mudança deflagrava um severo exame em si mesmo(a), perscrutando nevos e mamilos, prepúcio ou clitóris, vendo quais cicatrizes tinham desaparecido e quais persistido. Mas Jo/e havia se acostumado. Então, veste a anquinha e o vestido, seios novos (altos e cônicos) apertados um contra o outro, anágua arrastando pelo chão, o que significa que Jo/e pode calçar o par de botas Doctor Martens de quarenta anos de idade por baixo da saia (nunca se sabe quando será preciso correr, andar ou chutar; e chinelos de seda definitivamente não cooperam).
Uma peruca alta, de aparência empoada completa o visual. Em seguida, um borrifo de colônia. Então, a mão de Jo/e manuseia desajeitadamente a anágua, enfia um dedo entre as pernas (Jo/e não veste calcinhas, pretendendo uma autenticidade que as botas Doe Martens contradizem) e aplica a secreção como se fosse perfume atrás da orelha, talvez para dar sorte ou, quem sabe, seduzir. O táxi toca a campainha às 11:05h, e Jo/e desce. Jo/e vai ao baile.
Amanhã à noite, Jo/e tomará outra dose; a identidade profissional de Jo/e durante a semana é rigorosamente masculina.
Rajit nunca viu a ação de reprogramação de sexo do Reiniciar como algo além de um efeito colateral. O prêmio Nobel era destinado a trabalhos anticâncer (a reprogramação funcionava para a maioria dos casos de câncer, descobriu-se, mas não para todos).
Para um homem inteligente, Rajit era incrivelmente sem visão. Havia algumas coisas que ele não conseguia perceber. Por exemplo: que haveria pessoas que, mesmo sofrendo de câncer, prefeririam morrer a experimentar uma mudança de sexo; que a Igreja Católica opor-se-ia ao gatilho químico de Rajit, a essa altura vendido sob a marca Reiniciar, principalmente porque a mudança de sexo fazia com que o corpo da mulher reabsorvesse a carne do feto quando se reprogramava: homens não conseguem conceber. Várias outras seitas religiosas opunham-se ao Reiniciar, a maioria delas citando Gênesis 1:27 "E então Ele criou o homem e a mulher", como motivo.
Seitas que se mostraram contra o Reiniciar incluíam: o Islamismo, Ciência Cristã, a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Católica Romana (com algumas vozes discordantes), a Igreja da Unificação, Adeptos Ortodoxos da Jornada, Judaísmo Ortodoxo, a Aliança Fundamentalista dos Estados Unidos da América,
Seitas que se mostraram a favor do uso do Reiniciar, quando um médico qualificado julgava ser o tratamento apropriado incluíam: a maior parte das budistas, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja da Cientologia, a Igreja Anglicana (com algumas vozes discordantes), Nova Adeptos da Jornada, Judaísmo Liberal e Reformado, Coalizão da Nova Era da América.
Seitas que, inicialmente, mostraram-se a favor do uso do Reiniciar de forma recreativa: nenhuma.
Ao mesmo tempo que Rajit percebia que o Reiniciar tornaria a cirurgia de mudança de sexo obsoleta, nunca lhe ocorreu que alguém poderia tomá-lo por vontade, curiosidade ou fuga. Assim, não foi capaz de prever o mercado negro do Reiniciar e de gatilhos químicos semelhantes, nem de antever que, em quinze anos de liberação comercial do Reiniciar e aprovação da FDA, o comércio ilegal de cópias mais baratas da droga (piratas, como logo ficaram conhecidas) venderia, grama por grama, acima de dez vezes mais do que a heroína e a cocaína.
Em vários dos Novos Estados Comunistas da Europa Oriental, a posse das drogas piratas implicava sentença de morte.
Na Tailândia e na Mongólia, houve relatos de que meninos eram forçosamente reprogramados como meninas para aumentar seu valor na prostituição.
Na China, meninas recém-nascidas eram reprogramadas como meninos: famílias davam todas as suas economias por uma única dose. Os velhos morriam de câncer como antes. A crise subseqüente na taxa de natalidade não foi percebida como um problema até ser tarde demais; as soluções drásticas propostas mostraram-se difíceis de serem implementadas e levaram, a seu modo próprio, a revolução final.
A Anistia Internacional relatou que, em vários países Pan-Árabes, homens que não conseguiam demonstrar facilmente que haviam nascido do sexo masculino e que não eram, de fato, mulheres fugindo da obrigatoriedade do véu estavam sendo encarcerados e, em muitos casos, estuprados e mortos. A maior parte dos líderes árabes negava que qualquer fenômeno estivesse ocorrendo ou tivesse jamais ocorrido.
Rajit está com sessenta e poucos anos quando lê no The New Yorker que a palavra mudança está adquirindo conotações de profunda indecência e tabu.
Estudantes riem constrangidos quando encontram frases como "preciso mudar", ou "hora de mudança", ou "os ventos da mudança", nos seus estudos de literatura anteriores ao século XXI. Em uma aula de inglês em Norwich, risos obscenos saúdam a descoberta de um colega de quatorze anos de que "uma mudança é tão boa quanto um descanso".
Um representante da Sociedade Inglesa do Rei escreve uma carta ao jornal The Times, deplorando a perda de outra palavra perfeitamente útil na língua inglesa.
Vários anos mais tarde, um jovem em Streatham é processado por vestir em público uma camiseta com o slogan SOU UM HOMEM MUDADO claramente escrito.
Jackie trabalha no Blossoms, uma danceteria na zona oeste de Hollywood. Há dúzias, senão centenas, de Jackies em Los Angeles, milhares por todo o país, centenas de milhares pelo mundo. Algumas trabalham para o governo, outras para organizações religiosas ou comerciais. Em Nova Iorque, Londres e Los Angeles, pessoas como Jackie ficam na porta de lugares onde as multidões se aglomeram.
Isto é o que ela faz. Jackie observa a multidão entrando e pensa: nasceu H agora é M, nasceu M agora é H, nasceu H agora é H, nasceu H agora é M, nasceu M agora é M...
Nas "Noites Naturais" (cruamente, não-mudados) Jackie diz: "sinto muito, hoje você não pode entrar" muitas vezes. Pessoas como Jackie possuem uma taxa de exatidão de 97 por cento. Um artigo na revista Scientific American sugere que essa capacidade de reconhecimento do sexo de nascença pode ser herança genética: uma habilidade que sempre existiu, mas não tinha valores para sobrevivência até agora.
Jackie é emboscada de madrugada, depois do trabalho, nos fundos do estacionamento da Blossoms. E a cada bota que chuta ou pisa o rosto, o peito, a cabeça e a virilha de Jackie, ela pensa: nasceu H agora é M, nasceu M agora é M, nasceu M agora é H, nasceu H agora é H...
Quando Jackie sai do hospital — visão em apenas um olho, rosto e peito um único, enorme, hematoma roxo-esverdeado — há uma mensagem, mandada junto com um grande arranjo de flores exóticas, dizendo que a vaga para seu trabalho ainda está aberta.
Entretanto, Jackie pega o trem-bala para Chicago e, então, o comum para Kansas City e por lá fica, trabalhando como pintora de paredes e eletricista, profissões que Jackie aprendera há muito tempo. Ela não volta mais.
Rajit tem agora setenta e poucos anos. Mora no Rio de Janeiro. É rico o suficiente para satisfazer qualquer capricho; no entanto, não faz sexo com ninguém. Tomado por desconfiança, observa as pessoas da janela do seu apartamento, fitando os corpos bronzeados em Copacabana. Está pensativo.
As pessoas na praia pensam tanto nele quanto um adolescente com clamídia agradece a Alexander Fleming. A maioria imagina que Rajit já deve estar morto. De qualquer forma, ninguém se importa.
Aventa-se que alguns tipos de câncer evoluíram, ou sofreram mutação para sobreviver à reprogramação. Muitas doenças bacteriológicas e viroses podem sobreviver à reprogramação. Algumas até mesmo desenvolvem-se em função da reprogramação e levanta-se a hipótese de que uma delas — uma variedade de gonorréia — usa o processo em sua transmissão, permanecendo inicialmente em repouso no corpo hospedeiro e tornando-se infecciosa apenas quando a genitália se reorganiza em sexo oposto.
Mesmo assim, a média da expectativa da vida humana no Ocidente está aumentando.
O motivo pelo qual alguns livre-reprogramadores — usuários do Reiniciar com fins recreativos — parecem envelhecer normalmente, enquanto outros não demonstram indícios de envelhecimento, é algo que confunde os cientistas. Alguns afirmam que o último grupo está realmente envelhecendo em termos celulares. Outros mantêm que ainda é cedo demais para se concluir e que ninguém sabe coisa alguma com certeza.
A reprogramação não reverte o processo de envelhecimento; entretanto, há evidências de que, para alguns, ela pode deter tal processo. Muitas pessoas da geração mais velha, que até agora têm resistido à reprogramação por prazer, começam a tomar a droga regularmente — livre-reiniciação —, tendo ou não condições médicas que as permitam fazê-lo.
O processo de tornar diferente ou alterar é agora conhecido como troca. O mesmo se dá quando se deixa de morar em uma casa para fixar residência em outra.
Rajit está morrendo de câncer de próstata no seu apartamento no Rio de Janeiro. Tem noventa anos. Nunca tomou o Reiniciar; agora a idéia o amedronta. O câncer espalhou-se pelos ossos da sua pélvis e testículos. Ele toca a campainha. Há uma curta espera para que a novela diária da sua enfermeira seja desligada, a xícara de café seja posta de lado. Finalmente, a enfermeira vem,
— Leve-me para fora, para o ar — diz para a enfermeira, sua voz rouca. A princípio, ela não aparenta entender. Ele repete, no seu mau português. A enfermeira nega com a cabeça.
Ele se arrasta para fora da cama — uma figura encolhida, tão inclinada que é quase corcunda, e tão frágil que parece que uma tempestade o levaria — e começa a andar até a porta do apartamento.
Sua enfermeira tenta, sem sucesso, dissuadi-lo, então, ela caminha com ele até a entrada do apartamento e segura seu braço enquanto esperam pelo elevador. Rajit não saía do apartamento havia dois anos; mesmo antes do câncer, não deixava o apartamento. Está quase cego.
A enfermeira o guia até o sol flamejante, atravessam a rua e chegam à areia de Copacabana.
As pessoas na praia olham fixamente o velho, careca e podre, no seu surrado pijama, olhando ao redor com olhos opacos, que já foram castanhos, através dos óculos de aros escuros, grossos como fundo de garrafa.
Ele os encara também.
São todos dourados e lindos. Alguns dormem na areia. A maioria está nua ou veste um tipo de traje de banho que enfatiza e pontua sua nudez.
Rajit os conhece, então.
Mais tarde, muito mais tarde, fazem um outro bioépico. Na seqüência final, o velho cai de joelhos na praia, como o fez na vida real, e o sangue pinga da abertura do seu pijama, empapando o algodão manchado e formando uma poça escura sobre a areia macia. Ele fita as pessoas fixamente, olhando de uma para outra com estupefação no rosto, como um homem que finalmente aprendeu a encarar o sol.
Disse apenas uma palavra enquanto morria, cercado pelas pessoas douradas, que não eram homens, que não eram mulheres. Disse "anjos".
E as pessoas que assistiam ao bioépico, tão douradas, tão lindas, tão mudadas quanto as pessoas na praia, sabiam que era o fim de tudo aquilo.
E, não importa a maneira como Rajit tivesse entendido, realmente seria.
A FILHA DAS CORUJAS
Ouvi esta história do meu amigo Edmund Wyld, escudeiro, que a ouviu do Senhor Farringdom, que disse já ser velha no seu tempo. Na cidade de Dymton, uma menina recém-nascida foi deixada, uma noite, na escadaria da igreja, onde o sacristão a encontrou na manhã seguinte, de posse de algo curioso, a saber: uma pelota de coruja[1], que quando esmigalhada apresentava a composição usual de uma pelota de coruja assim: pele, dentes e pequenos ossos.
As velhas esposas da cidade disseram o que se segue: que a menina era a filha das corujas e que deveria ser enterrada viva, pois não havia nascido de uma mulher. Não obstante, os sábios Líderes e Barbas Grisalhas prevaleceram e o bebê foi levado para o convento (pois isso aconteceu logo após os tempos papistas e o convento tinha sido abandonado porque a gente da cidade julgava ser um lugar de diabos e coisas que tais, pios de mochos e guinchos de corujas e, de fato, muitos morcegos faziam seus ninhos na torre) e lá ela foi deixada, e uma das esposas da cidade ia todo dia ao convento e alimentava o bebê etc.
Foi prognosticado que o bebê morreria, o que não aconteceu: em vez disso, ela cresceu ano após ano até chegar a ser uma donzela de quatorze primaveras. Era a mais bela coisa que jamais se viu, uma linda rapariga que passava dias e noites por detrás de altos muros de pedra com ninguém para admirá-la, exceto uma esposa da cidade que até lá ia todas as manhãs. No dia do mercado, a boa esposa falou alto demais sobre a beleza da menina e também sobre o fato de ela não dizer palavra, pois nunca aprendera como fazê-lo.
Os homens de Dymton, os Barbas Grisalhas e os jovens, conversavam dizendo: se a visitarmos, quem saberia? (querendo dizer com visita que queriam, de fato, violentá-la).
Assim foi combinado: os homens iriam sair para caçar, num único grupo, na próxima lua cheia. Quando isso aconteceu, eles saíram em silêncio, um a um, das suas casas e encontraram-se no convento. O reverendo do Dymton destrancou o portão e eles entraram, um a um. Encontraram-na escondida no porão, assustada com o barulho.
A donzela era ainda mais bela do que tinham ouvido: seu cabelo era ruivo, o que era incomum, e vestia apenas um camisão branco. Quando os viu, teve muito medo pois nunca havia visto homens, apenas as mulheres que traziam alimentos para ela. Fitou-os com olhos enormes e soltou gritinhos, como se implorasse para que não a machucassem.
As gentes da cidade apenas riram, pois tencionavam o mal e eram homens malvados e cruéis. Avançaram sobre ela sob o luar.
A menina começou a guinchar e a gemer, mas isso não fez com que eles abandonassem seu propósito. Então, a grande janela escureceu, a luz da lua havia sido tapada, e ouviu-se o som de asas gigantescas, mas os homens nada viram, intencionados como estavam de estuprá-la.
A gente de Dymton, nas suas camas naquela noite, sonhou com pios de mocho, guinchos e uivos. Sonhou com grandes pássaros e que todos haviam virado camundongos e ratinhos.
De manhã, quando o sol estava alto, as boas esposas da cidade saíram por Dymton a procurar, de um lado a outro, seus mandos e filhos. Quando chegaram ao convento, encontraram pedras, as pelotas de coruja, no porão. Nas pelotas descobriram cabelo, fivelas, moedas e pequenos ossos, além de um pouco de palha sobre o chão.
Os homens de Dymton nunca mais foram vistos. Entretanto, alguns anos depois, algumas pessoas disseram que haviam visto uma donzela em lugares elevados, como nos mais altos carvalhos e campanários, sempre ao anoitecer ou tarde da noite, e ninguém sabia dizer se era ela ou não.
Era uma figura branca, mas o Senhor E. Wyeld não consegue se lembrar se ela estava vestida ou nua.)
A verdade dessa história desconheço, mas é um caso aprazível, o qual escrevo aqui.
SHOGGOTH’S OLD PECULIAR
Benjamin Lassiter estava chegando à inevitável conclusão de que a mulher que escrevera Uma viagem a pé pela costa britânica, o livro que trazia na mochila, nunca havia feito qualquer tipo de viagem a pé e que, provavelmente, não reconheceria a costa britânica mesmo que ela entrasse dançando no seu quarto, à frente de uma banda num desfile, cantando "Eu sou a costa britânica" numa voz alta e alegre, acompanhando-se ao kazoo[2].
Ele tinha seguido seus conselhos por cinco dias e não havia ganho nada, exceto hematomas e dor nas costas. Todos os balneários litorâneos britânicos possuem um número de hospedarias familiares que terão muito prazer em recebê-lo fora de temporada, era um desses conselhos. Ben o havia riscado e escrito na margem, ao seu lado: Todos os balneários litorâneos britânicos contêm um punhado de hospedarias familiares cujos donos viajam para a Espanha ou Provença no último dia de setembro, trancando as portas dos seus estabelecimentos ao saírem.
Ele tinha acrescentado várias outra notas nas margens, como "não repita, sob qualquer circunstância, o pedido de ovos fritos num café de beira de estrada" e "o que é essa coisa com o peixe e fritas?" e "não, não é". Este último foi escrito ao lado de um parágrafo que afirmava que, se havia algo que os habitantes de uma pitoresca aldeia na costa britânica gostavam de ver, era um jovem turista americano numa viagem a pé.
Por cinco dias infernais, Ben havia andado de aldeia em aldeia, bebido chá doce e café instantâneo em cantinas e cafés, observado vistas de pedras cinzentas e o mar cor de ardósia. Tinha tremido sob seus dois grossos blusões de moletom, ficado molhado e não conseguira ver nenhuma das paisagens prometidas.
Numa das noites, sentado no abrigo de ônibus, onde tinha desenrolado seu saco de dormir, começou a traduzir palavras-chave usadas nas descrições: encantador, resolveu, queria dizer não descrito; cênico queria dizer feio, mas com uma bela vista se a chuva passar; agradável provavelmente queria dizer nunca estivemos aqui nem conhecemos ninguém que esteve. Também tinha chegado à conclusão de que quanto mais exótico o nome da aldeia, mais monótona ela era.
Assim Ben Lassiter chegou, no quinto dia, a algum lugar ao norte de Bootle, na aldeia de Innsmouth, que não estava classificada nem como encantadora, nem como cênica, nem como agradável, no seu guia. Não havia descrições do ancoradouro que enferrujava, nem dos montes de gaiolas de pesca de lagostas apodrecendo sobre os seixos da praia.
Na rua que dava para o mar, havia três hospedarias familiares, uma ao lado da outra: Vista do Mar, Mon Repose e Shub Niggurath, cada uma delas com a placa de néon VAGAS na janela da sala da frente apagada; todas com o aviso FECHADA DURANTE A TEMPORADA preso com um percevejo na porta da frente.
Não havia cafés abertos na rua defronte ao mar. O solitário restaurante de peixe e fritas tinha um aviso de fechado. Ben esperou do lado de fora até que abrisse, enquanto a luz cinza da tarde transformava-se em lusco-fusco. Finalmente uma mulher pequena, com uma cara de sapo, desceu a rua e abriu a porta do restaurante. Ben perguntou quando abririam para o público e ela olhou para ele, confusa, e disse:
— É segunda-feira, querido. Nunca abrimos às segundas-feiras.
Então, entrou no restaurante e fechou a porta atrás de si, deixando Ben com frio e fome do lado de fora.
Ben tinha sido criado numa cidade seca no norte do Texas: a única água era a das piscinas dos quintais e a única forma de viajar era em pick-ups com ar-condicionado. Portanto, a idéia de caminhar pelo litoral num país onde falavam um certo tipo de inglês o atraíra. A cidade natal de Ben era duplamente seca: orgulhava-se de ter banido o álcool trinta anos antes de o resto da América ter aderido à Lei Seca e de nunca ter voltado atrás. Assim, tudo o que Ben sabia sobre pubs é que eram lugares pecaminosos, como bares, apenas com um nome mais atraente. A autora do Uma viagem a pé pela costa britânica tinha, no entanto, dito que os pubs eram bons lugares para ver as cores locais e obter informações, que alguém sempre "pagaria a rodada" e alguns deles serviam comida.
O pub de Innsmouth chamava-se O livro dos nomes mortos e a placa sobre a porta informou Ben que o proprietário era um A. Al-Hazred, que tinha licença para vender vinhos e bebidas alcoólicas. Ben perguntou-se se isso significava que serviam comida indiana, que havia provado na sua chegada em Bootle e tinha gostado muito. Parou diante das placas que o orientavam ao Bar Público ou ao Saloon, imaginando que os bares públicos britânicos eram particulares, como as escolas públicas. Então, foi para o Saloon, também porque soava mais como algo que se veria num filme de cowboy.
O Saloon estava quase vazio. Cheirava a cerveja derramada uma semana antes e a fumaça de cigarro de anteontem. Atrás do bar, estava uma mulher gorducha de cabelo loiro-garrafa. Sentados em um canto, havia dois cavalheiros vestindo longas capas de chuva cinzas e cachecóis. Jogavam dominós e bebericavam cerveja escura com uma densa espuma em canecões.
Ben foi até o bar:
— Vocês servem comida aqui?
A moça do bar coçou o canto do nariz por um instante e admitiu, de má vontade, que poderia fazer um "lavrador" para ele.
Ben não fazia idéia do aquilo queria dizer e desejou, pela centésima vez, que o Uma viagem a pé pela costa britânica tivesse um capítulo de frases americano-britânicas no final.
— É comida? — perguntou.
Ela assentiu com a cabeça.
— Certo. Vou querer um.
— E para beber?
— Uma Coca, por favor.
— Não temos Coca.
— Então, Pepsi.
— Não temos Pepsi.
— Bom, o que você tem? Sprite? 7UP? Gatorade?
Ela pareceu ainda mais alheia do que antes. Então, disse:
— Acho que tem uma garrafa ou duas de cherryade nos fundos.
— Está bom.
— São cinco libras e vinte pence e eu trago seu lavrador quando estiver pronto.
Ben decidiu, sentado numa mesa pequena e um tanto grudenta, bebendo algo gasoso e vermelho-brilhante que parecia e tinha gosto de produto químico, que um lavrador era, provavelmente, algum tipo de bife. Chegou a essa conclusão, colorida pelo desejo, sabia ele, imaginando lavradores rústicos, talvez até bucólicos, conduzindo seus bois gordos através de campos recém-arados ao pôr-do-sol e porque ele poderia naquele momento, com equanimidade e apenas com uma pequena ajude de outras pessoas, comer um boi inteiro.
— Aqui está. Lavrador — disse a moça do bar; colocando um prato na sua frente.
O lavrador acabou revelando-se uma lâmina de queijo de gosto acre, uma folha de alface, um pequeno tomate com uma impressão digital gravada, um montículo de uma coisa molhada e marrom que tinha gosto de geléia azeda e um pãozinho pequeno, duro e dormido, e foi uma triste decepção para Ben, que já tinha resolvido que os britânicos encaravam a comida como algum tipo de castigo. Mastigou o queijo e a folha de alface e amaldiçoou todos os lavradores da Inglaterra por escolherem jantar tal lavagem.
Os dois cavalheiros de capa de chuva, que estavam sentados no canto, acabaram seu jogo de dominó, pegaram suas bebidas e vieram se sentar ao lado de Ben.
— O que você está bebendo? — perguntou um deles, com curiosidade.
— Chama-se cherryade — disse-lhes. — Tem gosto de algo feito em uma fábrica de produtos químicos.
— Interessante você dizer isso — disse o mais baixo dos cavalheiros. — Interessante você dizer isso, porque tenho um amigo que trabalha numa fabrica de produtos químicos que nunca bebe cherryade.
Fez uma pausa de forma dramática e, então, deu um gole da sua bebida marrom. Ben esperou que ele prosseguisse, mas parece que aquilo era tudo. A conversa tinha acabado.
Num esforço para parecer bem educado, Ben perguntou, por sua vez:
— O que vocês estão bebendo?
O mais alto deles, que até então tinha parecido lúgubre, iluminou-se:
— É uma extrema gentileza da sua parte. Um quartilho de Shoggoth's Old Peculiar para mim, por favor.
— E para mim também — disse seu amigo. — Poderia matar uma Shoggoth’s. Ei, acho que dava um bom slogan publicitário, "poderia matar uma Shoggoth’s". Quem sabe eu escrevo pra eles sugerindo. Aposto que iam ficar muito contentes com minha sugestão.
Ben foi até a moça do bar planejando pedir dois quartilhos de Shoggoths Old Peculiar e um copo de água para ele, mas descobriu que ela já havia servido três quartilhos da bebida escura. Bom, pensou ele, tanto faz se for ovelha ou cordeiro, estando certo de que não podia ser pior do que o cherryade. Deu um gole. A cerveja tinha o tipo de sabor que, suspeitava ele, os publicitários descreveriam como encorpada, apesar de que, se pressionados, admitiriam que o corpo em questão seria o de uma cabra.
Pagou a moça do bar e manobrou de volta até seus novos amigos.
— Então, o que está fazendo em lnnsmouth? — perguntou o mais alto. Suponho que você seja um dos nossos primos americanos que veio ver a mais famosa aldeia inglesa.
— Batizaram uma cidade da América com o nome da nossa, sabia? — disse o mais baixo.
— Tem uma lnnsmouth nos Estados Unidos? — perguntou Ben.
— Devo dizer que sim — disse o homem baixo. Ele escreveu sobre ela o tempo todo. Ele cujo nome não mencionamos.
— Como? — disse Ben.
O homenzinho olhou sobre seu ombro e então sibilou, bem alto:
— H. P. Lovecraft!
— Falei pra não mencionar esse nome — disse seu amigo e deu um gole da cerveja marrom escura.
— H. P. Lovecraft. H. P. maldito Lovecraft. H. maldito P. maldito Love maldito craft. — Parou para tomar um fôlego. — O que ele sabia, hein? Quero dizer, que diabos ele sabia?
Ben bebeu um gole da sua cerveja. Esse nome era vagamente familiar. Lembrava-se dele inspecionando pilhas de LPs de vinil de músicas de estilo antigo no fundo da garagem do seu pai.
— Não eram um grupo de rock?
— Eu não tava talando de um grupo de rock. Eu falava do escritor.
Ben deu de ombros.
— Nunca ouvi falar — admitiu. — Na verdade, leio, a maior parte das vezes, apenas histórias de cowboy. E manuais técnicos.
O homenzinho cutucou seu amigo.
— Ouviu, Wilf? Nunca ouviu falar dele
— Bom, não há mal nisso. Eu costumava ler aquele Zane Grey — disse o mais alto.
— Sim. Bom. Não é nada pra se orgulhar. Este cara, como é que você disse que se chamava?
— Ben. Ben Lassiter. E você é...?
O homenzinho sorriu, parecia muito com uma rã, pensou Ben.
— Eu sou Seth — disse. — E o meu amigo aqui chama-se Wilf.
— Muito prazer — disse Wilf.
— Oi — disse Ben.
— Francamente — falou o homenzinho —, concordo com você.
— Concorda? — perguntou Ben, perplexo. O homenzinho fez que sim com a cabeça.
— Sim. H. P. Lovecrafl. Não sei por que tanta confusão. Ele não sabia escrever.
Deu um grande gole na sua cerveja e, então, lambeu a espuma dos seus lábios com a língua comprida e flexível.
— Digo, para iniciantes, veja as palavras que ele usava. Peculiar, sabe o que quer dizer peculiar?
Ben sacudiu a cabeça. Parecia que estava discutindo literatura com dois estranhos num pub inglês enquanto bebia cerveja. Perguntou-se por um instante se tinha se transformado em outra pessoa, enquanto não estava olhando. O gosto da cerveja ficava menos ruim a medida que o copo esvaziava e estava começando a tirar o gosto de cherryade que permanecia em sua boca.
— Peculiar, quer dizer esquisito. Peculiar. Amaldiçoadamente estranho. É isso o que quer dizer. Procurei no dicionário. E giboso?
Ben sacudiu a cabeça de novo,
— Giboso quer dizer que a lua está quase cheia. E aquela com a qual ele sempre xingava a gente, hein? Coisa. Que nome. Começa com b. Tá na ponta da língua...
— Bastardos? — sugeriu Wilf.
— Não. Coisa. Você sabe. Batráquio. É isso. Quer dizer parecido com rã.
— Espera aí — disse Wilf. — Pensei que fosse uma espécie de camelo.
Seth sacudiu a cabeça vigorosamente.
— Sem sombra de dúvida, rã. Camelo, não. Rã.
Wilf deu um grande gole na sua Shoggoth's. Ben bebericou a sua, cuidadosamente, sem prazer.
— E então? — disse Ben.
— Têm duas corcovas — interpôs Wilf, o alto.
— Rãs? — perguntou Ben.
— Não. Batráquios. Ao passo que o camelo dromedário comum tem só uma. É pra viagens longas através do deserto. É isso o que comem.
— Rãs? — perguntou Ben.
— Corcovas de camelo. — Wilf olhou Ben com um olho amarelo esbugalhado. — Escuta, rapaz. Depois de estar num deserto sem trilhas por três ou quatro semanas, um prato de corcova de camelo assada começa a parecer particularmente delicioso.
Seth olhou com desdém:
— Você nunca comeu corcova de camelo.
— Poderia ter comido — disse Wilf.
— Tá, mas não comeu. Você nunca esteve num deserto.
— Bom, digamos, apenas supondo que eu tenha ido a uma peregrinação ao Túmulo de Nyarlathotep...
— Está falando do rei negro dos antigos, que vem do leste à noite e a quem você não vai reconhecer?
— Claro que é dele que estou falando.
— Só pra saber.
— Pergunta idiota, se me permite dizer.
— Você poderia estar se referindo a outra pessoa com o mesmo nome.
— Bom, não é exatamente um nome comum, é? Nyarlathotep. Não haverá dois deles, não? "Olá, meu nome é Nyarlathotep. Que coincidência te encontrar aqui. Engraçado haver duas pessoas com este mesmo nome", acho que não exatamente. Enfim, estou me arrastando pela vastidão sem trilhas, pensando com meus botões que poderia matar uma corcova de camelo...
— Mas você não estava, estava? Você nunca saiu da enseada de Innsmouth.
— Bom... não.
— Aí está. — Seth olhou para Ben, triunfante. Então, inclinou-se e sussurrou ao seu ouvido:
— Infelizmente, ele fica assim quando toma alguns tragos.
— Eu ouvi isso — disse Wilf
— Que bom — disse Seth. — De qualquer forma, H. P. Lovecraft ia escrever assim uma de suas malditas sentenças. Hã-hã. "A lua gibosa brilha baixa sobre os peculiares, e batráquios habitantes da escamosa Dulwich", O que ele quer dizer, hein? O que ele quer dizer? Eu te digo que diabos ele quer dizer. O que quer dizer é que a maldita lua tava quase cheia e que todas as pessoas que moravam em Duiwich eram rãs estranhas pra dedéu. É isso o que ele quer dizer.
— E aquela outra coisa que você disse?
— O que?
— Escamosa? O que isso quer dizer?
Seth deu de ombros.
— Não faço a mínima idéia — admitiu. — Mas ele usava muito isso.
Houve outra pausa.
— Eu sou estudante — disse Ben. — Vou ser um metalúrgico.
De alguma forma tinha conseguido acabar todo seu primeiro quartilho de ShoggotIh’s Old Peculiar, que tinha sido, percebeu agradavelmente chocado, a primeira bebida alcoólica que bebera na vida.
— O que vocês fazem?
— Somos acólitos — falou Wilf.
— Do Grande Cthulhu — disse Seth orgulhosamente.
— É — falou Ben. — E o que exatamente isso representa?
— Minha rodada — informou Wilf. — Esperem um pouco. — Wilf foi até a moça do bar e voltou com mais três quartilhos. — Bem — disse — o que representa agora, tecnicamente falando, não é muito. Ser acólito não é realmente um emprego trabalhoso no meio da temporada movimentada. Isso, claro, é porque ele está dormindo. Bom, não exatamente dormindo. Mais como, se você preferir, morto.
— "Na sua morada em Sunken R’lyeh Cthulhu está dormindo" — interpôs Seth. — Ou, como disse o poeta: "Não está morto aquele que se deita eternamente..."
— "Mas em Estranhas Eras..." — cantou Wilf,
— ...e por Estranho ele que dizer pra lá de peculiar...
— Exatamente. A gente não está falando, de modo algum, de Eras normais aqui.
— "Mas, em Estranhas Eras, até a Morte pode morrer".
Ben estava levemente surpreso ao se descobrir bebendo outro quartilho encorpado de Shoggoth's Old Peculiar. De alguma forma, o gosto desagradável de cabra estava menos ofensivo na segunda vez. Deliciado, percebia-se sem fome, sem dores nos pés cheios de bolhas e na companhia de homens encantadores e inteligentes, cujos nomes estava tendo dificuldade de discernir. Não tinha experiência com álcool o suficiente para perceber que aquele era um dos sintomas de estar no segundo quartilho de Shoggoth’s Old Peculiar.
— Por isso, nesse momento — disse Seth, ou possivelmente Wilf —, o negócio está um pouco leve. Consiste principalmente em esperar.
— E orar — disse Wiff, se é que não foi Seth.
— E orar. Mas muito em breve, tudo vai mudar.
— É — perguntou Ben. — Como?
— Bom — confidenciou o mais aito. — A qualquer dia, o Grande Cthulhu (no momento, temporariamente falecido), que é o nosso chefe, acordará nos seus aposentos submarinos.
— E então — disse o mais baixo — ele vai se espreguiçar, bocejar e se vestir.
— Provavelmente, vai ao banheiro. Eu não ficaria surpreso, de modo algum.
— Talvez leia o jornal.
— E tendo feito isso tudo, virá das profundezas do oceano e consumirá o mundo todo.
Ben achou aquilo indescritivelmente engraçado.
— Como um lavrador — disse
— Exatamente, exatamente. Bem colocado, jovem cavalheiro americano. O Grande Cthulhu devorará o mundo como um prato de lavrador, deixando apenas o pickles Branslon de lado.
— Aquela coisa marrom? — perguntou Ben. Asseguraram-lhe que sim, e ele foi ao bar e trouxe mais três quartilhos de Shoggoth’s Old Peculiar.
Não conseguiu lembrar-se muito da conversa que se seguiu. Lembrava-se de ter acabado seu quartilho e de seus amigos terem-no convidado para uma volta a pé pela aldeia, mostrando-lhe as inúmeras vistas.
— É lá que alugamos nossos vídeos, e aquele grande edifício ao lado é o Templo Inominável dos Deuses Indizíveis e, aos sábados de manhã, há um bazar na cripta...
Explicou-lhes sua teoria sobre o guia de viagem a pé e lhes disse, emocionado, que Innsmouth era tão cênica quanto encantadora. Disse-lhes que eram os melhores amigos que jamais tivera e que Innsmouth era agradável.
A lua estava quase cheia e, sob o claro luar, seus dois novos amigos lembravam incrivelmente rãs enormes. Ou possivelmente camelos.
Os três caminharam até o fim do cais enferrujado e Seth e/ou Wilf apontaram as ruínas de Sunken R'lyeh na baía, visível ao luar, sob o mar, e Ben foi acometido pelo que explicou como sendo um ataque repentino e imprevisto de maresia e ficou violenta e interminávelmente enjoado sobre as grades de metal, vomitando no negro mar, abaixo...
Depois disso, tudo ficou um pouco estranho.
Ben Lassiter acordou numa colina fria com a cabeça latejando e um gosto ruim na boca. Sua cabeça estava sobre a mochila. Havia, em ambos os lados, uma charneca rochosa e nenhum sinal de estrada e nem de aldeia, fosse cênica, encantadora, agradável ou mesmo pitoresca.
Tropeçou e mancou por quase uma milha até a estrada mais próxima e andou por ela até chegar a um posto de gasolina.
Disseram-lhe que não havia nenhuma aldeia nas redondezas chamada Innsmouth. Nenhuma aldeia com um pub chamado O livro dos nomes mortos.
Contou-lhes sobre dois homens chamados Wilf e Seth e um amigo deles chamado Ian Estranho, que estava profundamente adormecido em algum lugar, se não estivesse morto, debaixo do mar. Disseram-lhe que não gostavam muito de hippies americanos que vagavam pelo interior tomando drogas e que ele provavelmente se sentiria melhor depois de uma boa xícara de chá e de um sanduíche de atum e pepino, mas, se estivesse com o firme propósito de vaguear pela região tomando drogas, o jovem Ernie, que trabalhava no turno da tarde, ficaria feliz em ihe vender um saquinho de cannabis cultivada em casa, se pudesse voltar depois do almoço.
Ben tirou seu livro Uma viagem a pé pela costa britânica e tentou encontrar Innsmouth nele, para provar que não tinha sonhado com a aldeia, mas não foi capaz de localizar a página onde havia a informação — se é que, de algum modo, ela esteve realmente ali. A maior parte de uma página, no entanto, tinha sido rasgada, grosseiramente, mais ou menos na metade do tivro.
Então, Ben telefonou para um táxi, que o levou para a estação de trem de Bootle, onde pegou um trem que o levou até Manchester, onde embarcou num avião que o levou a Chicago. De lá, mudou de avião para Dallas, onde tomou outro avião até o norte, alugou um carro e foi para casa.
Achou muito reconfortante saber que estava a mais de 600 milhas do oceano, apesar de mais tarde, durante sua existência, mudar-se para Nebraska a fim de aumentar a distância do mar: havia coisas que tinha visto, ou julgava ter visto, debaixo do velho cais naquela noite que nunca seria capaz de tirar da cabeça. Havia coisas que espreitavam debaixo de capas de chuva cinzas que não eram para o Homem saber. Escamoso. Não precisava procurar no dicionário. Sabia. Eles eram escamosos.
Duas semanas depois de chegar em casa, Ben enviou pelo correio seu exemplar anotado de Uma viagem a pé pela costa britânica à autora, aos cuidados do seu editor, com uma extensa carta contendo várias sugestões úteis para futuras edições. Também pediu à autora se ela podia lhe enviar uma cópia da página que havia sido rasgada do seu guia, para apaziguar sua mente, mas ficou secretamente aliviado, quando os dias viraram meses e os meses viraram anos e os anos décadas e ela nunca respondeu.
PROCURANDO A GAROTA
Eu tinha dezenove anos em 1965, com minhas calças de boca estreita e meu cabelo descendo discretamente até o colarinho. Toda vez que você ligava o rádio, os Beatles estavam cantando Help! e eu queria ser John Lennon com todas as garotas gritando por mim, sempre pronto com um gracejo cínico. Foi o ano em que comprei meu primeiro exemplar da Penthouse, numa pequena tabacaria na King's Road. Paguei com meus xelins dissimulados e fui para casa com a revista recheando meu blusão. Vez por outra, baixava os olhos para ver se ela tinha queimado o tecido e feito um furo.
A revista foi jogada fora há muito tempo, mas sempre me lembrarei dela: cartas sérias sobre censura; um conto de H. E. Bates e uma entrevista com um romancista americano do qual nunca tinha ouvido falar; a onda de moda de ternos mohair e gravatas de paisley, tudo para se comprar na Carnaby Street. E, melhor de tudo, havia garotas, é claro; e melhor do que todas as garotas, havia Charlotte.
Charlotte também tinha dezenove anos.
Todas as garotas daquela revista há muito desaparecida pareciam idênticas, com sua carne perfeitamente plástica; nenhum fio de cabelo fora do lugar (você quase conseguia sentir o cheiro do laquê); sorrindo de maneira saudável para a câmara fotográfica, enquanto semicerravam os olhos para você através de cílios espessos como florestas: batom branco, dentes brancos, seios brancos, biquíni desbotado. Nunca tinha pensado sobre as estranhas posições em que recatadamente se colocavam para evitar mostrar o menor fio ou sombra de pêlo púbico — eu não saberia o que estava olhando, de qualquer forma. Tinha olhos apenas para seios e nádegas pálidos; seus olhares castos, mas convidativos.
Então, virei a página e vi Charlotte. Ela era diferente das outras. Charlotte era sexo; ela vestia sexualidade como um véu translúcido, como um perfume intoxicante.
Havia texto ao lado das fotografias, que li numa confusão; "a extasiante Charlotte Reave tem dezenove anos... uma individualista ressurgente e poeta beat, coiaboradora da revista FAB...".
Frases grudavam na minha mente enquanto estudava cuidadosamente as fotografias: ela posou e fez beicinhos num apartamento em Chelsea — o do fotógrafo, presumo —, e eu sabia que precisava dela.
Tinha a minha idade. Era destino.
Charlotte.
Charlotte linha dezenove anos.
Eu comprei a Penthouse regularmente, desde então, esperando que ela aparecesse de novo. Mas não apareceu. Não naquela época.
Seis meses depois, minha mãe achou uma caixa de sapatos debaixo da minha cama e olhou seu conteúdo. Primeiro fez uma cena, depois jogou fora as revistas, finalmente me pôs para fora de casa. No dia seguinte, consegui um trabalho e um lugar para dormir em Earl's Court, sem muito problema, considerando-se tudo.
Meu emprego, o primeiro, era numa oficina elétrica, numa travessa da Edgware Road. Tudo o que sabia fazer era mudar a tomada, mas, naqueles tempos, as pessoas podiam pagar um eletricista para fazer só isso. Meu chefe disse que eu poderia aprender.
Durou três semanas. Meu primeiro serviço foi sem dúvida emocionante — mudar a tomada do abajur do criado-mudo de um astro do cinema inglês que tinha ficado famoso por sua interpretação de lacônicos Casanovas cockneys. Quando cheguei, lá estava na cama com duas belezocas. Mudei a tomada e fui embora. Não pude ver um mamilo nem de relance, quanto mais ser convidado para me juntar a eles.
Três semanas mais tarde, fui despedido e perdi minha virgindade no mesmo dia. Era um lugar elegante em Hampstead, vazio a não ser pela empregada, uma mulherzinha de cabelo escuro um pouco mais velha do que eu. Ajoelhei-me para trocar a tomada e ela subiu numa cadeira do meu lado para espanar o alto de uma porta. Olhei para cima: sob a saia, vestia meias, ligas e, Deus me ajude, nada mais. Descobri o que acontecia nas partes que as fotografias não mostravam.
Assim, perdi a inocência debaixo de uma mesa de jantar em Hampstead. Não se vêem mais empregadas domésticas. Seguiram o mesmo caminho que o fusca e o dinossauro.
Foi depois disso que perdi meu emprego. Nem mesmo meu chefe, convencido como estava da minha total incompetência, acreditou que eu pudesse levar três horas para trocar uma tomada — e eu não contaria que tive de passar duas dessas horas escondido debaixo da mesa da sala de jantar quando o dono e a dona da casa chegaram sem que esperássemos, não é?
Tive uma sucessão de pequenos empregos depois disso: primeiro como impressor, depois como compositor de tipografia antes de acabar numa pequena agência de publicidade em cima de uma lanchonete na Old Compton Street.
Continuava comprando Penthouse. Todos pareciam extras de Os vingadores, mas eram daquele jeito na vida real. Artigos sobre Woody Allen e a ilha de Sappho, Batman e Vietnã, dançarinas de strip-tease em ação brandindo chicotes, moda, ficção e sexo.
Os ternos ganharam colarinhos de veludo e as garotas desarrumaram seus cabelos. Fetiche era moda. Londres balançava, as capas das revistas eram psicodélicas e, se não havia ácido na água potável, agíamos como se houvesse.
Vi Charlotte de novo em 1969, muito depois de ter desistido dela. Pensei ter-me esquecido de sua aparência. Então, um dia, o chefe da agência jogou uma Penthouse na minha mesa — havia uma propaganda de cigarro que tínhamos colocado na revista e ele estava particularmente contente com isso. Eu tinha vinte e três anos, uma estrela em ascensão, dirigindo o departamento de arte como se soubesse o que estava fazendo; algumas vezes até que sabia.
Não me lembro de muito sobre o assunto em si; tudo de que me recordo é Charlotte. Cabelo selvagem e castanho claro, olhos provocantes, sorrindo como se conhecesse todos os segredos da vida e os mantivesse próximos aos seus seios nus. Seu nome não era Charlotte, era Melanie ou algo parecido. O texto dizia que tinha dezenove anos,
Eu estava morando com uma dançarina chamada Rachel nessa época, num apartamento em Camden Town. Rachel era a mulher mais bela e mais adorável que jamais conheci. Fui para casa cedo com as fotos de Charlotte na minha pasta, tranquei-me no banheiro e me masturbei como se estivesse embriagado.
Rachel e eu nos separamos um pouco depois.
A agência progrediu subitamente — tudo nos anos sessenta progredia subitamente — e, em 1971, foi-me dada a tarefa de encontrar "O rosto" para uma etiqueta de roupas. Queriam uma garota que encarnasse tudo o que fosse sexual; que vestisse suas roupas como se fosse rasgá-las em mil pedaços — se algum homem não fizesse isso primeiro. E eu conhecia a garota perfeita: Charlotte.
Liguei para a Penthouse. As pessoas da revista disseram que não sabiam do que eu estava falando, mas, relutantemente, me puseram em contato com os dois fotógrafos que a haviam fotografado no passado. O homem da Penthouse não parecia convencido quando eu lhe disse que era a mesma garota as duas vezes.
Falei com os fotógrafos, tentando localizar a agência dela.
Disseram-me que a moça não existia.
Pelo menos, não de uma maneira que fosse possível localizá-la, não mesmo. Claro, ambos conheciam a garota de quem eu falava. Mas, como um deles me disse, ela tinha ido até eles — um "tipo meio esquisito". Pagaram-lhe uma taxa de modelo e venderam as fotos. Não, não tinham endereço algum para me dar.
Eu tinha vinte e seis anos e era um tonto. Percebi imediatamente o que estava acontecendo: aquela turma estava me enrolando. Uma outra agência de publicidade a tinha obviamente contratado, planejado uma grande campanha com ela e pago os fotógrafos para ficarem quietos. Amaldiçoei os caras e gritei com eles pelo telefone. Fiz ofertas financeiras ultrajantes.
Mandaram que eu me fodesse.
E, no mês seguinte, ela estava na Penthouse. Não mais uma revista psicodélica provocante de meio pêni, tinha ficado mais classuda — as garotas deixavam mostrar pêlos púbicos e tinham brilhos devoradores de homens nos olhos. Homens e mulheres faziam travessuras numa abordagem amena em trigais, rosa contra o dourado.
Seu nome, dizia o texto, era Belinda. Uma negociante de antigüidades. Era Charlotte, eu tinha certeza, apesar do cabelo escuro e armado em grandes cachos sobre a cabeça. O texto também dava sua idade: dezenove anos.
Liguei para o meu contato na Penthouse e consegui o nome do fotógrafo, John Felbridge. Liguei para ele. Como os outros, afirmou não saber de nada, mas agora eu tinha aprendido uma lição. Em vez de gritar pelo telefone, dei-lhe um trabalho numa grande conta, para fotografar um garotinho tomando sorvete. Felbridge tinha cabelo comprido, uns trinta e oito anos, com um casaco maltrapilho de pele e tênis desamarrados, cujos cadarços se agitavam, mas era um bom fotógrafo. Depois da seção de fotos, levei-o para beber e conversamos sobre o tempo ruim, fotografia, moeda decimal, seu último trabalho e Charlotte.
— Bom, você disse que viu as fotos na Penthouse, não é? — disse Felbridge.
Assenti com a cabeça. Estávamos ambos um pouco bêbados.
— Te conto sobre aquela garota. Sabe de uma coisa? Ela é a razão porque quero desistir do glamour e fazer trabalhos decentes. A moça disse que se chamava Belinda.
— Como vocês se conheceram?
— Eu chego lá, pode deixar! Pensei que ela fosse de uma agência, sabe? Bate na porta, penso uau! e a convido pra entrar. Aí, disse que não era de agência alguma, que estava vendendo...
Enrugou sua testa, confuso.
— Não é estranho? Esqueci o que ela estava vendendo. Vai ver, não estava vendendo nada. Sei lá. Ainda vou esquecer meu próprio nome. Mas tava na cara que ela era especial. Perguntei se queria posar, disse que era ponta firme, que eu não estava com más intenções. Aí, a menina concordou. Clique, flash! Cinco rolos, assim. Logo que a gente acabou, ela se vestiu de novo e foi pra porta, bonita que só vendo. "E o seu dinheiro?", perguntei. "Manda pra mim depois", ela falou e desceu as escadas. Logo, tomou seu rumo.
— Então você tem o endereço dela? — perguntei tentando não demonstrar interesse,
— Não, malandro. Acabei deixando o dinheiro de lado no caso de ela voltar.
Lembro de ficar me perguntando, com decepção, se seu sotaque cockney era real ou simplesmente modismo.
— Mas o que eu queria dizer é que, quando as fotos voltaram, sabia que... bom, no que diz respeito a tetas e buças, não... no que diz respeito a esse papo de fotografar mulheres, eu parei. Ela era todas as mulheres, sabia? Não, cara! Não tem mais por que continuar. Não, não, deixa que eu pago. Minha rodada. Bloody Mary, não é? Vou te contar, bicho, eu estou ansioso pra gente trabalhar junto de novo...
Não trabalharíamos juntos de novo.
A agência foi comprada por uma firma mais antiga, maior, que queria nossas contas. Incorporaram as iniciais da empresa no seu nome e mantiveram uns poucos criadores, mas dispensaram o resto de nós.
Voltei para meu apartamento e esperei que as ofertas de trabalho começassem a chover, o que não aconteceu. Mas o amigo da namorada de um amigo começou a bater um papo comigo tarde da noite em um bar (estava se apresentando um cara de quem eu nunca tinha ouvido falar chamado David Bowie; vestia-se como um homem do espaço e o resto da sua banda usava roupas prateadas de cowboys; nem cheguei a ouvir as canções) e minha ocupação seguinte foi gerenciar minha própria banda de rock, a Diamonds of Flame. A não ser que tenha estado na cena dos bares de Londres no começo dos anos setenta, você nunca terá ouvido falar dela, apesar de ter sido ótima. Afinada, lírica. Cinco caras. Dois deles estão em supergrupos mundialmente famosos, hoje em dia. Um é encanador em Walsall; ainda me manda cartões de Natal. Os outros dois morreram quinze anos depois: overdoses anônimas. Bateram com as botas com uma semana de diferença um do outro, e isso detonou a banda.
Detonou comigo também. Pulei fora — queria ir o mais longe que pudesse da cidade e daquele estilo de vida. Comprei uma pequena fazenda no País de Gales. Estava feliz no meu canto, com as ovelhas, cabras e repolhos. Provavelmente continuaria lá até hoje, se não tivesse sido por ela e pela Penthouse.
Não sei de onde veio. Uma manhã saí de casa e encontrei a revista no quintal, na lama, com a capa virada para baixo, Tinha quase um ano.
Ela não usava maquiagem e posava num lugar que parecia ser um apartamento de altíssimo nível. Pela primeira vez, vi seus pêlos púbicos, ou poderia ter visto se a foto não tivesse sido artisticamente alterada e um pouco fora de foco. Parecia que ela saía da bruma.
Seu nome, dizia o texto, era Lesley. Tinha dezenove anos.
Depois disso, não pude mais continuar longe. Vendi a fazenda por uma ninharia e voltei para Londres nos últimos dias de 1976,
Passei a viver do seguro social, morava num apartamento da câmara municipal em Victoria, acordava na hora do almoço, ia para os pubs e permanecia até que fechassem à tarde, lia os jornais na biblioteca até que os pubs abrissem de novo e, então, rastejava por eles até a hora em que fechavam. Vivia do dinheiro do seguro e bebia da minha caderneta de poupança.
Tinha trinta anos e me sentia muito mais velho. Comecei a viver com uma punk loira anônima do Canadá que conheci num bar na Greek Street. Servia bebidas no bar e numa noite, depois de fechar, disse-me que estava sem ter onde morar, então ofereci-lhe o sofá de casa. Revelou ter só dezesseis anos e acabou nunca dormindo no sofá. Tinha pequenos seios, como romãs, uma caveira tatuada nas costas e o penteado da noiva do Frankenstein. Disse que havia feito de tudo e não acreditava em nada. Falava horas a fio sobre como o mundo estava entrando numa condição de anarquia, afirmava que não havia esperança nem futuro, mas trepava como se tivesse acabado de inventar a foda. E eu achei isso ótimo.
Vinha para cama sem nada além de uma coleira de couro preto com pontas de ferro e um monte de maquiagem preta desalinhada nos olhos. Às vezes, ela cuspia, simplesmente escarrava na calçada enquanto andávamos, o que eu odiava, e me fazia levá-la aos clubes punks para vê-la escarrar, xingar e pular. Aí é que eu me sentia mesmo um ancião. Apesar disso, gostava de algumas músicas: Peaches, coisas assim. E vi os Sex Pistols tocando ao vivo. Eram podres.
Daí a punk me largou, dizendo que eu era um velho escroto e chato, e se meteu com um principezinho árabe extremamente gordo.
— Achei que você não acreditava em nada — disse-lhe enquanto ela entrava no carro que ele mandara para apanhá-la.
— Eu acredito em centenas de boquetes por grana e lençóis de pele de vison — respondeu, uma mão brincando com um fio de cabelo do seu penteado de Noiva do Frankenstein. — E num vibrador de ouro. É nisso que eu acredito.
Assim, ela partiu para uma fortuna de petróleo e um novo guarda-roupa. Eu chequei minhas economias e descobri que estava quebrado — praticamente sem um tostão. Ainda comprava Penthouse esporadicamente. Minha alma dos anos sessenta estava profundamente chocada e muito impressionada pela quantidade de carne agora exposta. Não sobrava nada para a imaginação, o que, ao mesmo tempo, me atraía e me repelia.
Então, perto do final de 1977, ela estava lá de novo.
Seu cabelo estava multicolorido, minha Charlotte, e sua boca estava tão escarlate como se tivesse acabado de comer framboesas. Deitava-se sobre lençóis de cetim com uma máscara de jóias no rosto e uma mão entre as pemas; estática, orgásmica, tudo o que sempre quis: Charlotte.
Apareceu com o nome de Titania e estava adornada com penas de pavão. Trabalhava, fui informado pelas letras negras que rastejavam como insetos ao redor das suas fotografias, numa agência imobiliária no sul. Gostava de homens honestos, sensíveis. Tinha dezenove anos.
E, meu Deus do céu, ela parecia ter dezenove anos. E eu estava quebrado, vivendo do seguro do governo, como um milhão de outras pessoas, e não ia a lugar algum.
Vendi minha coleção de discos, meus livros, todos exceto quatro exemplares da Penthouse, e a maior parte da minha mobília e comprei uma câmara fotográfica razoavelmente boa. Então, telefonei para quase todos os fotógrafos que tinha conhecido quando trabalhava em publicidade, quase uma década antes.
A maioria deles não se lembrava de mim, ou disse que não se lembrava. E os que se lembraram não queriam um jovem assistente ansioso, que já não era tão jovem e não tinha experiência. Mas continuei tentando e finalmente entrei em contato com Harry Bleak, um velho garotão de cabelos grisalhos que tinha seu próprio estúdio em Crouch End e um pelotão de namoradinhos caros.
Disse-lhe o que queria. Ele nem parou para pensar a respeito.
— Esteja aqui em duas horas.
— Não brinca.
— Duas horas. Não mais do que isso.
Eu estava lá em duas horas.
No primeiro ano, limpei o estúdio, pintei telas de fundo e saía pelas lojas e ruas locais para implorar, comprar ou emprestar acessórios apropriados. No ano seguinte, ajudei com as luzes, montava fotos, soprava pelotas de fumaça e gelo seco ao redor do estúdio e fazia o chá. Estou exagerando — só fiz chá uma vez; faço um chá horrível. Mas aprendi muito sobre fotografia.
De repente, era 1981 e o mundo estava novamente romântico. Eu tinha trinta e cinco anos e sentia cada minuto disso. Bleak disse-me para cuidar do estúdio por algumas semanas enquanto ele ia ao Marrocos para um mês de devassidão bem merecida.
Ela estava na Penthouse daquele mês. Mais recatada e cerimoniosa do que antes, esperando por mim ordenadamente entre propagandas de estéreos e scotch. Chamava-se Dawn, mas ainda era a minha Charlotte, com mamilos como contas de sangue nos seus seios bronzeados, cabelo escuro felpudo entre suas eternas pernas, fotografada numa praia em algum lugar, tinha só dezenove anos, dizia o texto. Charlotte. Dawn.
Harry Bleak morreu voltando do Marrocos: um ônibus caiu em cima dele.
Na verdade, não é engraçado — ele estava numa balsa voltando de Calais e pôs o corpo pela janela para pegar seus charutos, os quais tinha deixado no porta-luvas da Mercedes. O tempo eslava ruim, e um ônibus turístico (que pertencia, li nos jornais e fui informado por um namorado lacrimoso, a uma empresa de compras em Wigan) não tinha sido acorrentado apropriadamente. Harry foi esmagado contra a lateral da sua Mercedes prata.
Ele sempre deixava aquele carro brilhando.
Quando o testamento foi lido, descobri que o velho safado tinha me deixado seu estúdio. Chorei até dormir aquela noite, fiquei bêbado como um gambá por uma semana e, então, abri o estúdio para trabalhar.
Aconteceram coisas desde aquele tempo até hoje. Casei-me. Durou três semanas, então achamos melhor cada um ir para o seu lado. Acho que não sou do tipo que se casa. Apanhei de um bêbado de Glasgow num trem certa noite, os outros passageiros fingiram que não estava acontecendo. Comprei duas tartarugas aquáticas e um tanque e as coloquei no apartamento sobre o estúdio; chamei-as de Rodney e Kevin. Tornei-me um bom fotógrafo. Fiz calendários, propagandas, moda e trabalho de glamour, garotinhas e grandes estrelas, ou seja, arregacei as mangas.
E, num dia de primavera, em 1985, encontrei Charlotte.
Estava só no estúdio numa terça-feira de manhã, sem fazer a barba e descalço. Era um dia livre e eu pretendia passá-lo limpando o estúdio e lendo os jornais. Tinha deixado as portas abertas, permitindo que o ar fresco entrasse para substituir o fedor de cigarros e vinho derramado na seção da noite anterior, quando uma voz de mulher disse:
— Bleak Estúdio Fotográfico?
— Sim — disse eu sem me virar —, mas Bleak está morto. Eu toco o negócio agora.
— Quero posar para você — disse ela.
Virei-me. Ela tinha quase um metro e setenta de altura, cabelos cor de mel, olhos verde-azeitona, um sorriso como água fria no deserto.
— Charlotte?
Ela inclinou a cabeça para um lado.
— Se você quiser. Gostaria de tirar fotos minhas?
Assenti com a cabeça tolamente. Liguei os guarda-chuvas na tomada, coloquei-a de pé contra uma parede de tijolos e tirei duas fotos de teste com Polaroid. Sem maquiagem especial, sem cenário, apenas algumas luzes, uma Hasselblad e a garota mais bonita do mundo.
Depois de um tempo, começou a tirar suas roupas. Não pedi que tirasse. Não me lembro de ter dito coisa alguma para ela. Despiu-se e continuei tirando fotografias.
Sabia tudo. Como posar, ajeitar-se, olhar. Silenciosamente, flertava com a câmara e comigo atrás dela, fotografando. Não me lembro de ter parado para nada, mas devo ter trocado de filme porque acabei com uma dúzia de rolos, no fim do dia.
Você deve achar que, depois de as fotos terem sido tiradas, eu fiz amor com ela. Bom, eu seria um mentiroso se dissesse que nunca azarei modelos e que, por isso, algumas delas me azararam. Mas não a toquei. Ela era meu sonho e, se você toca num sonho, ele desaparece, como uma bolha de sabão.
De qualquer forma, simplesmente não podia tocá-la.
— Quantos anos você tem? — perguntei um pouco antes de ela sair, quando estava vestindo o casaco e pegando sua bolsa.
— Dezenove — disse-me sem olhar em volta e, então, já tinha saído pela porta.
Não disse adeus.
Mandei as fotos para a Penthouse. Não pude pensar em nenhum outro lugar para mandá-las. Dois dias depois, recebi um telefonema do editor de arte.
— Adorei a garota. Realmente uma coisa tipo a cara dos anos oitenta. Quais são os dados dela?
— Seu nome é Charlotte — disse-lhe. — Tem dezenove anos. Agora tenho trinta e nove anos, um dia terei cinqüenta e ela ainda terá dezenove. Mas outra pessoa tirará as fotos.
Rachel, minha dançarina, casou-se com um arquiteto.
A punk loira do Canadá administra uma cadeia multinacional de moda. Faço algum trabalho fotográfico para ela de vez em quando. Seu cabeío está curto, com uma nesga grisalha, e ela é lésbica hoje em dia. Disse-me que ainda tem os lençóis de vison, mas que inventou a história do vibrador de ouro.
Minha ex-mulher casou-se com um otário simpático, dono de duas vídeo locadoras e mudaram-se para Slough. Têm garotos gêmeos.
Não sei o que aconteceu com a empregada.
E Charlotte?
Na Grécia, os filósofos estão debatendo, Sócrates está bebendo cicuta e ela está posando para uma escultura de Erato, musa da poesia e dos amantes, e tem dezenove anos.
Em Creta, ela está untando seus seios com óleo e pulando sobre os touros na arena enquanto o Rei Minos aplaude. Alguém está pintando sua beleza numa jarra de vinho e ela tem dezenove anos.
Em 2065, ela está esticada no chão móvel de um fotógrafo holográfíco que a registra como um sonho erótico em Living Sensolove, aprisionando a visão, o som e seu cheiro numa minúscula matriz de diamante. Ela tem só dezenove anos.
E um homem das cavernas desenha os contornos de Charlotte com um galho queimado na parede da cavema-templo, preenchendo sua forma e textura com terra e corantes de frutos silvestres. Dezenove anos.
Charlotte está lá, em todos os lugares, todos os tempos, deslizando pelas nossas fantasias, para sempre uma menina.
Desejo-a tanto que, às vezes, dói. É quando pego suas fotos e apenas as olho por um tempo, perguntando-me por que não tentei tocá-la, por que nem mesmo falei com ela quando estava lá, jamais chegando a uma resposta que pudesse entender.
Suponho que esse seja o motivo por que escrevi tudo isso.
Esta manhã, percebi outro fio de cabelo branco em minha têmpora.
Charlotte tem dezenove anos. Em algum lugar.
APENAS O FIM DO MUNDO NOVAMENTE
Foi um dia ruim: acordei nu na cama com uma cólica no estômago, sentindo-me mais ou menos um caco. Alguma coisa na qualidade da luz, estendida e metálica, como a cor de uma enxaqueca, disse-me que era de tarde.
O quarto estava congelando, literalmente: havia uma fina camada de gelo na parte de dentro da janela. Os lençóis ao meu redor estavam rasgados e dilacerados. Havia pêlo de animal na cama. Coçava.
Pensei em ficar na cama até a semana seguinte — sempre fico cansado depois de uma transformação — mas uma onda de náusea me forçou a me desembaraçar dos cobertores e ir aos tropeços, rapidamente, até o minúsculo banheiro do apartamento.
A cólica atacou-me de novo quando cheguei à porta do banheiro. Apoiei-me na soleira da porta e comecei a suar. Talvez fosse febre; esperei não adoecer.
A cólica estava aguda nas minhas tripas. Senti minha cabeça rodar. Caí, retorcendo-me no chão e, antes que pudesse levantar meu rosto o suficiente para alcançar o vaso sanitário, comecei a vomitar.
Vomitei um líquido ralo, amarelo e fétido; nele havia uma pata de cachorro — achei que fosse de um doberman, mas não entendo muito de cachorros; algumas cenouras cortadas em cubo e milho, pedaços de carne meio mastigada, crua, e alguns dedos. Eram dedos bem pequenos e pálidos, obviamente de uma criança.
— Merda.
As cólicas melhoraram e a náusea cedeu. Deitei no chão com uma baba fedorenta saindo da minha boca e nariz, com as lágrimas que escorrem quando se está doente secando nas minhas bochechas.
Assim que me senti um pouco melhor, peguei a pata e os dedos da poça de vômito, joguei-os no vaso sanitário e dei a descarga.
Abri a torneira, enxagüei com a água salobra de Innsmouth e cuspi o líquido na pia. Limpei o vômito o melhor que pude com pano de chão e papel higiênico. Então, liguei o chuveiro e fiquei na banheira como um zumbi enquanto a água quente me lavava.
Ensaboei meu corpo e cabelo. A espuma escassa ficou cinza; eu devia estar imundo. Meu cabelo estava coberto com alguma coisa que parecia sangue seco e a esfreguei com o sabonete até sumir. Daí, fiquei de pé sob o chuveiro até a água tornar-se gelada.
Havia uma nota da senhoria debaixo da minha porta. Dizia que eu lhe devia duas semanas de aluguel. Dizia que todas as respostas estavam no Apocalipse. Dizia que eu tinha feito muito barulho ao voltar para casa de madrugada e que ela me agradeceria se eu fosse mais silencioso no futuro. Dizia que, quando os velhos Deuses se erguessem do oceano, toda a escória da Terra, todos os descrentes, todo o lixo humano, os vadios e parasitas, seriam eliminados e que o mundo seria limpo pelo gelo e pela água profunda. Dizia que sentia que devia me lembrar que designara uma prateleira na geladeira para mim quando eu havia chegado e que me agradeceria se, no futuro, me limitasse apenas a ela.
Amassei o bilhete e o larguei no chão, onde caiu ao lado das embalagens de Big Mac e de pizza e suas sobras há muito secas.
Era hora de ir trabalhar.
Eu estava em Innsmouth havia duas semanas e não gostava da cidade. Cheirava a peixe, Era um povoado claustrofóbico: pântanos a leste, penhascos a oeste e, no centro, uma enseada que continha alguns barcos pesqueiros que apodreciam e que não era cênica nem mesmo ao pôr-do-sol. Os yuppies tinham vindo a Innsmouth nos anos oitenta e comprado suas pitorescas cabanas de pescador com vista para a enseada. Os mesmos yuppies partiram alguns anos atrás e as cabanas na baía estavam desmoronando, abandonadas.
Os habitantes de Innsmouth viviam aqui, ali, por aí e em estacionamentos de trailers que ficavam ao redor da cidade, cheia de casas-móveis úmidas que nunca iam a lugar algum.
Vesti-me, calcei minhas botas, pus meu casaco e saí do quarto. Minha senhoria não estava em lugar algum. Era uma mulher baixa de olhos arregalados que falava pouco, apesar de me deixar extensos bilhetes presos com alfinetes nas portas ou em lugares em que eu os pudesse ver; mantinha a casa cheirando a frutos do mar cozidos: panelas enormes sempre fervendo no fogão da cozinha, cheias de coisas com muitas pernas e outras sem perna alguma.
Havia mais quartos na casa, mas ninguém os alugava. Ninguém com a cabeça no lugar viria para Innsmouth no inverno.
Fora da casa, o cheiro não era muito melhor. Estava mais frio, minha respiração vaporizava no ar marinho. A neve nas ruas era dura e imunda; as nuvens prometiam mais neve.
Um vento frio e salgado subia da baía. As gaivotas estavam gritando miseravelmente. Senti-me uma droga. Meu escritório também devia estar congelando. Na esquina da rua Marsh com a avenida Leng, havia um bar, The Opener, um edifício atarracado com pequenas janelas escuras, pelo qual eu tinha passado duas dúzias de vezes nas duas últimas semanas. Ainda não havia entrado, mas precisava mesmo de um trago e, além do mais, devia estar mais quente lá dentro. Abri a porta.
O bar estava realmente quente. Bati a neve das minhas botas e entrei. Estava quase vazio e cheirava a cinzeiros velhos e cerveja azeda. Dois homens idosos jogavam xadrez ao lado do balcão. O barman estava lendo uma edição puída encadernada de couro verde e dourado dos trabalhos poéticos de Alfred, Lord Tennyson.
— Ei, que tal um Jack Daniefs puro?
— Claro. Você é novo na cidade — disse ele colocando seu livro com a face virada no bar e servindo a bebida no copo.
— Pareço?
Ele sorriu, passou-me o Jack Daniel's. O copo estava imundo, com uma impressão digital engordurada na lateral. Eu dei de ombros e virei a bebida de qualquer jeito. Mal pude sentir seu gosto.
— Ressaca? — indagou.
— Pode-se dizer que sim.
— Há uma crença — disse o barman, cujo cabelo vermelho como pêlo de raposa estava penteado para trás com gel — de que os lykanthropoi podem voltar à forma natural quando lhes agradecemos, enquanto estiverem sob a forma de lobo, ou chamando-os por seus nomes de batismo.
— É? Não me diga!
Serviu outro trago sem que eu pedisse. Parecia um pouco com Peter Lorre, mas até aí, nada de novo. A maioria das pessoas em Innsmouth se parecia um pouco com Peter Lorre, inclusive minha senhoria.
Virei o Jack Daniel's, desta vez sentindo queimar no meu estômago, da maneira como devia ser.
— É o que dizem. Nunca disse que acreditava nisso.
— Em que você acredita?
— Queimar o cinto.
— Como?
— Os lykanthropoi têm cintos de pele humana dados a eles na sua primeira transformação pelos seus mestres no Inferno. Queime o cinto.
Um dos velhos enxadristras virou-se para mim, seus olhos enormes, cegos e protuberantes.
— Se você beber água da chuva de uma pegada de lobisomem, quando a lua estiver cheia, isso fará de você um lobo — disse ele. — A única cura é caçar o lobo que fez a pegada e lhe cortar a cabeça com uma faca forjada de prata virgem.
— Virgem, hein? — Eu sorri.
Seu parceiro de xadrez, careca e enrugado, balançou a cabeça e resmungou um som lúgubre. Daí, moveu sua rainha e resmungou novamente.
Havia pessoas como ele por toda Innsmouth.
Paguei pelas bebidas e deixei uma gorjeta de um dólar no bar. O barman estava lendo seu livro e a ignorou.
Do lado de fora do bar, flocos de neve grandes, molhados como beijos tinham começado a cair, fixavam-se nos meus cabelos e cílios. Odeio a neve. Odeio a Nova Inglaterra. Odeio Innsmouth: é um lugar para se estar só, mas, se há um bom lugar para se estar só, ainda não o encontrei. Mesmo assim, os negócios mantiveram-me em movimento por mais luas do que gosto de pensar Negócios e outras coisas.
Desci duas quadras pela rua Marsh — como a maioria das ruas de Innsmouth, uma mistura nada atraente de casas do século dezoito em estilo gótico americano, residências tolhidas com fachada de arenito pardo do final do século dezenove e moradias pré-fabricadas de bloco cinza do final do século vinte — até chegar a um restaurante de frango frito lacrado com tábuas. Subi, então, os degraus de pedra ao lado do restaurante e destranquei a porta de segurança enferrujada.
Havia uma loja de bebidas alcoólicas do outro lado da rua; uma quiromante estava atendendo no segundo andar.
Alguém tinha pichado o metal em preto: MORRA, dizia, Como se fosse fácil.
A escada era de madeira nua. O reboco estava manchado e descascado. Meu escritório de um cômodo era no alto da escadaria.
Não fico muito tempo em lugar algum para me dar o trabalho de pôr o meu nome em dourado no vidro. Estava escrito à mão em letra de forma num pedaço de cartolina rasgada que eu tinha pregado na porta.
Lawrence Talbot
Ajustador
Destranquei a porta do meu escritório e entrei.
Inspecionei o lugar enquanto adjetivos como andrajoso, repugnante e esquálido passavam pela minha cabeça, então desisti, incapaz de nomear as sensações desagradáveis. Era bem pouco atraente — uma mesa, uma cadeira de escritório, uma escrivaninha vazia, uma janela, que dava para a incrível vista da loja de bebidas alcoólicas e para a quiromante vazia. O cheiro de óleo velho permeava do restaurante. Indaguei-me há quanto tempo aquele restaurante de frango frito estava lacrado com tábuas; imaginei uma multidão de baratas negras, enxameando toda a superfície na escuridão abaixo dos meus pés.
— Essa é a forma do mundo que você está pensando — disse uma voz profunda e obscura, profunda o suficiente para que eu a sentisse na boca do estômago.
Havia uma velha poltrona num canto do escritório. Os restos de um padrão mostravam-se através da pátina do tempo e da gordura que os anos tinham lhe dado. Era da cor da poeira.
O homem sentado na poltrona, seus olhos ainda bem cerrados, continuou:
— Olhamos para o nosso mundo com perplexidade, com uma sensação de apreensão e desgosto. Pensamos em nós mesmos como eruditos em liturgias misteriosas, homens únicos presos em mundos que estão além do nosso legado. A verdade é muito mais simples: há coisas na escuridão, embaixo de nós, que nos querem mal.
Sua cabeça pendia para trás na poltrona e a ponta da sua língua mexia-se no canto da boca,
— Você leu minha mente?
O homem na poltrona sorveu o ar lenta e profundamente, o que produziu um ronco em sua garganta. Era de fato imensamente gordo, com dedos atarracados, como lingüiças descoradas. Vestia um velho casaco grosso, que já havia sido preto e agora era de um cinza indeterminado. A neve nas suas botas não havia derretido completamente.
— Talvez o fim do mundo seja um conceito estranho. O mundo está sempre acabando, e o fim está sempre sendo evitado, por amor, insensatez ou simplesmente pura sorte. Ah, bem, agora é tarde demais: os Velhos Deuses escolheram seus veículos. Quando a lua se erguer...
Uma fina baba escorreu do canto da sua boca, gotejando num fio de prata até o colarinho. Alguma coisa correu do seu colarinho para dentro da sombra do seu casaco,
— É? O que vai acontecer quando a lua se erguer?
O homem da poltrona mexeu-se, abriu dois olhinhos vermelhos e inchados e os piscou acordando.
— Sonhei que eu tinha muitas bocas — disse, sua nova voz estranhamente baixa e ofegante para um homem enorme. — Sonhei que cada boca se abria e se fechava independentemente. Algumas falavam, outras sussurravam, muitas comiam e outras tantas esperavam em silêncio.
Olhou ao redor, limpou a baba do canto da boca, recostou-se na cadeira piscando confuso.
— Quem é você?
— Sou o cara que aluga este escritório — disse-lhe. Arrotou alto, repentinamente.
— Sinto muito — disse com sua voz ofegante, e se ergueu pesadamente da poltrona. De pé, era menor do que eu, Olhou para baixo e para cima com a vista turva.
— Balas de prata — pronunciou depois de uma curta pausa. Remédio antiquado.
— É — disse-lhe. — É tão óbvio. Deve ser por essa razão que não pensei nisso. Nossa, eu sou mesmo tão distraído. Sou mesmo.
— Você está fazendo troça de um velho — disse-me.
— Não mesmo. Sinto muito. Agora, fora daqui. Alguns de nós têm que trabalhar.
Saiu andando trôpego. Sentei-me na cadeira giratória da mesa ao lado da janela e descobri, depois de alguns minutos, por tentativa e erro, que se eu a girasse para a esquerda, ela cairia da sua base.
Então, sentei-me imóvel e esperei que o telefone negro e empoeirado na minha mesa tocasse, enquanto a luz vagarosamente vertia do céu de inverno.
Trim.
Uma voz de homem: Será que eu havia pensado em tapumes de alumínio? Desliguei o telefone.
Não havia aquecimento no escritório. Perguntei-me quanto tempo o homem gordo tinha dormido na poltrona.
Vinte minutos depois, o telefone tocou novamente. Uma mulher chorando implorou-me para ajudá-la a encontrar sua filha de cinco anos, desaparecida desde a noite anterior, arrancada da sua cama. O cachorro da família também tinha sumido.
"Não trabalho com crianças desaparecidas", disse-lhe. "Sinto muito. Muitas lembranças más."
Desliguei o telefone, sentindo-me enjoado de novo.
Estava escurecendo e, pela primeira vez desde que eu tinha chegado a Innsmouth, a placa de néon do outro lado da rua acendeu. Dizia que MADAME EZEKIEL fazia LEITURAS DE TARÔ E QUIROMANCIA.
O néon vermelho manchou a neve que caía com a cor de sangue novo.
O Armagedon é evitado por pequenas ações. Era essa a maneira. Era essa a maneira que sempre teria de ser,
O telefone tocou uma terceira vez. Reconheci a voz; era o homem dos tapumes de alumínio de novo.
— Sabe — disse, loquaz —, transformação de homem em animal e em homem novamente é, por definição, impossível; precisamos procurar outras explicações. Despersonalização, sem dúvida, e, igualmente, alguma forma de projeção. Dano cerebral? Talvez. Esquizofrenia pseudoneurótica? Nem pensar. Alguns casos foram tratados com hidrocloreto de tioridazina endovenoso.
— Com sucesso?
Ele deu um risinho de satisfação.
— É disso que eu gosto. Um homem com senso de humor. Estou certo de que podemos fazer negócio.
— Já lhe disse. Não preciso de tapume de alumínio.
— Nosso negócio é mais digno de nota e muito mais importante. Você é novo na cidade, Sr. Talbot. Seria uma pena se nos encontrássemos em, digamos, desacordo.
— Pode falar o que quiser, amigo. No que me diz respeito, você é apenas outro ajuste, esperando para ser feito.
— Estamos dando cabo do mundo, Senhor Talbot. Os Profundos erguer-se-ão das suas tumbas oceânicas e comerão a lua como uma ameixa madura.
— Então, não vou ter de me preocupar com luas cheias nunca mais, não é?
— Não tente passar por cima de nós — começou ele, mas eu rosnei e se calou.
Do lado de fora da janela, a neve ainda caía.
Do outro lado da rua Marsh, na janela diretamente oposta à minha, a mais linda mulher que eu jamais vira estava de pé no clarão de rubi da sua placa de néon e me fitava.
Ela acenou com um dedo.
Desliguei o telefone na cara do homem do tapume de alumínio pela segunda vez naquela tarde. Desci as escadas e atravessei a rua quase correndo, mas olhei dos dois lados antes.
Ela vestia seda. O quarto estava iluminado apenas com velas e recendia a incenso e a óleo de patchuli.
Sorriu para mim quando entrei, fazendo um gesto para me aproximar da sua cadeira ao lado da janela. Estava jogando um jogo de cartas com um baralho de tarô, alguma versão de paciência. Quando cheguei até ela, uma mão elegante juntou as cartas, enrolou-as em um xale de seda e as colocou gentilmente numa caixa de madeira.
Os cheiros do quarto fizeram minha cabeça martelar. Não tinha comido nada o dia todo, percebi. Talvez fosse isso que estivesse me deixando tonto. Sentei-me na mesa, de frente para ela, à luz de velas.
Estendeu a mão e pôs a minha nas suas.
Fitou a palma da minha mão e a tocou, gentilmente, com seu indicador.
— Pêlo? — estava confusa,
— É, bem. Tenho estado muito só. — Sorri. Esperava que fosse um riso amigável, mas ela ergueu uma sobrancelha.
— Quando olho você — disse Madame Ezekiel —, isso é o que vejo: o olho de um homem. E também o olho de um lobo. No olho do homem, vejo honestidade, decência e inocência. Um homem justo que anda ereto. E, no olho do lobo, vejo um gemido e um rosnado, uivos noturnos e gritos, um monstro correndo com saliva salpicada de sangue, na escuridão dos limites da cidade.
— Como você pode ver um rosnado ou um grito?
Ela sorriu.
— Não é difícil — disse. Seu sotaque não era americano. Era russo, maltês ou, talvez, egípcio. — No olho da mente vemos muitas coisas.
Madame Ezekiel fechou os olhos verdes. Tinha cílios notavelmente longos; sua pele era pálida e seu cabelo negro nunca ficava parado — vagueava suavemente ao redor da sua cabeça, na seda das suas roupas, como se flutuasse em marés distantes.
— Há uma maneira tradicional — disse-me. — Uma maneira de lavar uma má forma. Você fica de pé em água corrente, na água clara de uma fonte, enquanto come pétalas de rosas brancas.
— E então?
— A forma da escuridão será lavada de você.
— Voltará — disse-lhe — com a próxima lua cheia.
— Então — disse Madame Ezekiel — uma vez que a sombra for lavada de você, abra suas veias na água corrente. Vai doer muito, é claro, mas o rio levará o sangue para longe.
Ela vestia sedas, xales e roupas de uma centena de cores diferentes, cada qual brilhante e viva, mesmo na luz diminuta das velas.
Seus olhos se abriram.
— Agora — disse — o tarô.
Desembrulhou seu baralho do xale de seda negra que o prendia e me deu as cartas para embaralhar. Eu as soprei, as espalhei e as juntei.
— Mais devagar, mais devagar — disse ela, — Deixe-as conhecerem você. Deixe-as amarem você, como... como uma mulher o teria amado.
Segurei as cartas firmemente e, então, eu as devolvi a ela. Virou a primeira carta. Chamava-se O Lobisomem. Mostrava escuridão e olhos de âmbar, um sorriso em branco e vermelho.
Seus olhos verdes mostraram confusão. Eram do verde das esmeraldas.
— Esta carta não é do meu baralho — disse e virou a próxima carta. — O que você fez com as minhas cartas?
— Nada, madame. Apenas as segurei. Só isso.
A carta que ela tinha virado era O Profundo. Mostrava algo verde e que lembrava vagamente um polvo. As bocas da coisa — se eram realmente bocas e não tentáculos — começaram a se retorcer na carta enquanto eu observava.
Ela a cobriu com outra carta, e outra, e outra. O resto delas ficou como papelão branco.
— Você fez isso? — Ela estava à beira das lágrimas.
— Não.
— Vá agora — disse.
— Mas...
— Vá. — Olhou para baixo como se estivesse tentando se convencer de que eu não existia mais.
Fiquei de pé, no quarto que cheirava a incenso e a cera de vela, e olhei pela sua janela o outro lado da rua. Uma luz brilhou brevemente na janela do meu escritório. Dois homens com lanternas andavam nele. Abriram o arquivo vazio, olharam em volta e, então, tomaram suas posições: um na poltrona e o outro atrás da porta, esperando que eu voltasse. Sorri para mim mesmo. Meu escritório era frio e inóspito e, com sorte, eles esperariam horas até acharem que eu não voltaria.
Assim, deixei Madame Ezekiel virando suas cartas, uma a uma, fitando-as, como se isso fizesse com que os desenhos voltassem. Desci a escada e andei de volta pela rua Marsh até chegar ao bar.
O lugar estava vazio agora. O barman fumava um cigarro que amassou no cinzeiro, quando entrei.
— Onde estão os viciados em xadrez?
— É uma grande noite para eles, hoje. Vão estar na baía. Vejamos. Você vai de Jack Daniel's, certo?
— Boa idéia.
Serviu-me. Reconheci a impressão digital da última vez que tinha usado o copo. Peguei o volume de poemas de Tennyson de cima do balcão.
— Livro bom?
O barman de cabelo cor de raposa pegou o livro de mim, abriu-o e leu:
"Abaixo dos trovões da profundeza superior;
Longe, longe, debaixo do mar abismai,
Seu antigo sono sem sonhos, inviolado,
O Kraken dorme..."
Acabei minha bebida.
— Então? Qual o significado?
Andou ao redor do balcão, levou-me até a janela.
— Vé? Lá fora?
Apontou em direção ao oeste da cidade, em direção aos penhascos. Enquanto eu olhava, uma grande fogueira foi acesa no alto do penhasco. Flamejou e começou a queimar com uma chama verde-cobre.
— Vão acordar os Profundos — disse o barman. — As estrelas, os planetas e a lua estão todos nos lugares certos, É hora. As terras secas afundarão e os mares hão de se erguer...
— "Pois o mundo deverá ser limpo com gelo e inundações e eu agradecerei se você mantiver sua própria prateleira na geladeira" — disse eu.
— Como?
— Nada. Qual é o caminho mais rápido para se chegar ao alto daqueles penhascos?
— Pegue a rua Marsh de volta. Vire à esquerda na Igreja de Dagon até chegar à estrada Manuxet. Daí é só continuar.
Pegou um casaco de trás da porta e vestiu.
— Venha. Vou acompanhar você até lá. Eu detestaria perder a diversão.
— Tem certeza?
— Ninguém nesta cidade vai beber hoje à noite.
Saímos e ele trancou a porta do bar atrás de nós.
Estava gelado na rua e a neve que tinha caído era soprada pelo chão como bruma branca. Do nível do asfalto, não podia dizer se Madame Ezekiel estava em sua toca, acima da sua placa de néon, ou se meus convidados ainda me esperavam em meu escritório.
Baixamos nossas cabeças contra o vento e andamos.
Acima do barulho do vento, ouvi o barman falando consigo mesmo,
— "Agitar com braços gigantes a verde modorra" — dizia ele.
"Lá deitou-se por eras e se deitará
Golpeando enormes vermes marinhos em seu sono,
Até que o último fogo aqueça as profundezas;
Então, por anjos e por homens será visto,
Em rugido, erguer-se-á..."
Parou aí e continuamos a andar em silêncio com a neve soprada pelo vento ferroando nossos rostos.
E na superfície morrerá, pensei, mas não disse nada em voz alta.
Vinte minutos andando e estávamos fora de Innsmouth. A estrada Manuxet acabou quando saímos da cidade e tornou-se uma trilha estreita e suja, parcialmente coberta com gelo e neve. Nós escorregamos e deslizamos caminho acima na escuridão.
A lua ainda não tinha aparecido, mas as estrelas já começavam a sair. Havia muitas. Espargiam-se pelo céu da noite como pó de diamante e safiras moídas. Podem-se ver muitas estrelas da praia, muito mais do que na cidade.
No alto do penhasco, atrás da grande fogueira, duas pessoas estavam esperando — uma enorme e gorda, outra bem menor. O barman saiu do meu lado e foi até eles, encarando-me.
— Vejam — disse — o lobo sacrificial.
Havia agora uma estranha familiaridade em sua voz. Não disse nada. O fogo queimava com chamas verdes e iluminava os três por baixo: clássica iluminação fantasmagórica.
— Sabe por que eu trouxe você aqui em cima? — perguntou o barman, e então descobri porque sua voz era familiar: era a do homem que tinha tentado me vender tapume de alumínio.
— Para impedir o fim do mundo?
Ele riu de mim.
A segunda figura era o homem gordo que encontrei dormindo na cadeira do meu escritório.
— Bem, se você vai ficar escatológico sobre isso... — murmurou com uma voz profunda o suficiente para sacudir paredes. Seus olhos estavam fechados. Dormia profundamente.
A terceira figura estava envolta em sedas escuras e cheirava a óleo de patchuli. Segurava uma faca. Não disse nada.
— Nesta noite — disse o barman —, a lua é dos Profundos. Nesta noite, as estrelas estão configuradas nas formas e padrões dos velhos tempos sombrios. Nesta noite, se os chamarmos, eles virão. Se o nosso sacrifício for valioso. Se nossos gritos forem ouvidos.
A lua se ergueu, enorme, cor de âmbar e pesada, do outro lado da baía, e um coro de coaxados quase inaudíveis ergueu-se com ela do oceano, muito abaixo de nós.
O luar sobre neve e gelo não é a mesma coisa que a luz do dia, mas serve. E, meus olhos estavam se aguçando com a lua: nas águas frias, homens como sapos estavam emergindo e submergindo numa vagarosa dança aquática. Homens como sapos e mulheres também: pareceu-me que pude ver minha senhoria lá embaixo também, contorcendo-se e coaxando na baía com o resto.
Era muito cedo para outra transformação. Ainda estava exaurido da noite anterior, mas senti-me estranho debaixo daquela lua âmbar.
— Pobre homem-lobo — veio um sussurro das sedas. — Todos os seus sonhos acabaram nisso: uma morte solitária num penhasco distante.
Sonharei se quiser, disse eu, e minha morte é assumo meu. Mas não tinha certeza se havia dito em voz alla.
Os sentidos ficam mais apurados à luz da lua. Ainda ouvia o rugido do oceano, agora, porém, sobre ele, podia discernir cada onda erguer-se e quebrar; escutava as pancadas na água do povo-rã; os sussurros afogados dos mortos na baía; o rangido de naufrágios verdes muito abaixo do oceano.
O olfato melhora, também. O homem do tapume de alumínio era humano, enquanto o gordo tinha outro sangue.
E a figura vestindo seda...
Eu havia sentido seu perfume quando estava na forma humana. Agora podia sentir o cheiro de mais alguma coisa, menos inebriante, debaixo dela. Um cheiro de decadência, de carne em putrefação e matéria podre.
As sedas se agitavam. Ela estava se movendo na minha direção. Segurava a faca.
— Madame Ezekiel? — Minha voz estava ficando áspera e grossa. Logo eu a perderia completamente. Não entendia o que estava acontecendo, mas a lua se erguia mais e mais, perdendo sua cor de âmbar e enchendo minha cabeça com sua luz pálida.
— Madame Ezekiel?
— Você merece morrer — disse ela, sua voz era fria e baixa. — Nem que seja pelo que fez com minhas cartas. Eram antigas.
— Eu não morro — disse-lhe. — "Mesmo um homem que é puro de coração e faz suas orações à noite". Lembra-se?
— Isso é besteira — disse. — Você sabe qual é a maneira mais antiga de acabar com a maldição do lobisomem?
— Não.
A fogueira ardia com mais brilho agora. Ardia com o verde do mundo debaixo do mar, o verde das algas e das plantas que se mexiam vagarosamente. Queimava com a cor das esmeraldas.
— Você simplesmente espera até que ele esteja na forma humana, um mês inteiro antes de outra transformação. Então, pega a faca sacrificial e o mata. Isso é tudo.
Virei para correr, mas o barman estava atrás de mim, puxando meus braços, torcendo meus punhos nas minhas costas. A faca brilhou sua prata pálida ao luar. Madame Ezekiel sorriu.
Ela cortou minha garganta.
O sangue começou a jorrar e depois a fluir. Então diminuiu e parou...
...O martelar na parle da frente da minha cabeça, a pressão atrás. Tudo era uma transformação turva, uma transformação uou-ou-ou-uou, uma parede vermelha vindo da noile em minha direção.
...Senti o goslo de estrelas dissolvidas em salmoura, espumantes, distantes e salgadas
...meus dedos formigavam com alfinetes e minha pele era açoitada com línguas de fogo; meus olhos eram topázios; podia sentir o gosto da noite
Minha respiração fumegava e crescia no ar gelado.
Rosnei involuntariamente, do fundo de minha garganta. Minhas patas dianteiras tocavam a neve.
Recuei, retesei-me e saltei sobre ela,
Havia um sentido de corrupção narrando no ar, como bruma, envolvendo-me. No alto do meu salto, pareci hesitar e algo explodiu como uma bolha de sabão...
Eu estava no fundo, no fundo da escuridão sob o mar, de pé com minhas quatro patas sobre uma pedra coberta de limo na entrada de um tipo de cidadela construída de enormes pedras cortadas grosseiramente. As pedras emitiam um brilho pálido na luz escura; uma luminescência fantasmagórica, como os ponteiros de um relógio
Uma nuvem de sangue negro saía do meu pescoço.
Ela estava de pé na entrada à minha frente. Tinha agora mais de um metro e oitenta de altura, talvez dois. Havia carne nos ossos de seu esqueleto, esburacada e roída, mas as sedas eram algas, balançando na água fria, lá embaixo nas profundezas sem sonho. Escondiam seu rosto como um vagaroso véu verde.
Havia lapas crescendo nas superfícies superiores dos seus braços e na carne que pendia das suas costelas.
Senti-me como se estivesse sendo esmagado. Não consegui pensar mais.
Ela se moveu na minha direção. A alga que envolvia sua cabeça virou. Seu rosto era como as coisas que você não tem vontade de comer num balcão de sushi, toda rêmoras e espinhas e frondes de anêmonas balançando-se. E em algum lugar disso tudo, eu sabia que ela estava sorrindo.
Impulsionei-me com minhas pernas traseiras. Encontramo-nos lá, no fundo, e lutamos. Era tão frio, tão escuro. Fechei minhas mandíbulas no seu rosto e senti algo lacerar e rasgar.
Foi quase um beijo, lá na profundeza abismal...
Pousei suavemente na neve, um xale de seda entre minhas mandíbulas. As outras mantilhas estavam agitando-se no chão. Madame Ezekiel não estava em lugar algum.
A faca de prata jazia no chão, na neve. Esperei, de quatro, sob o luar, encharcado. Sacudi-me, borrifando salmoura ao meu redor. Ouvi o chiado, quando atingiu o fogo.
Estava tonto e fraco. Sorvi o ar profundamente em meus pulmões.
Lá, muito abaixo, na baía, pude ver o povo-rã parado na superfície do mar como coisas mortas; por vários segundos, vagueavam para a frente e para trás na maré, então se torciam e pulavam e, um a um, caíam chapinhando a água na baía e desapareciam debaixo do mar.
Houve um grito. Era o barman de cabelo cor de raposa, o homem de olhos saltados do tapume de alumínio, que estava fitando o céu noturno, as nuvens que se arrastavam cobrindo as estrelas, e gritando. Havia ódio e frustração naquele grito e ele me assustou.
Pegou a faca do chão, limpou a neve do punho com seus dedos e o sangue da lâmina com seu casaco. Depois olhou para mim. Gritava.
— Seu miserável — disse, — O que você fez a ela?
Eu lhe teria dito que não fiz nada a ela, que ela ainda estava de guarda muito abaixo no oceano, mas não podia falar mais, apenas rosnar, ganir e uivar.
Ele chorava. Fedia a insanidade e decepção. Ergueu a faca e correu até mim, e eu me esquivei para o lado.
Algumas pessoas não conseguem se adequar nem mesmo a mudanças minúsculas. O barman passou por mim, tropeçou, voou pelo penhasco e mergulhou no nada.
O sangue é negro, e não vermelho, sob o luar, e as marcas que deixou no flanco do penhasco enquanto caía, quicava e caía, eram nódoa; de negro e cinza escuro. Então, finalmente, ele se quedou imóvel nas pedras geladas na base do penhasco até que um braço estendeu-se do mar e o arrastou, tão devagar que quase doía olhar, para sob a água escura.
Uma mão acariciou minha cabeça. Senti-me bem.
— O que ela era? Apenas um avatar dos Profundos, senhor. Um espectro, uma manifestação, se preferir, a nós enviada das maiores profundezas para trazer o fim do mundo.
Ericei meu pêlo.
— Não, está acabado... por ora. Você a despedaçou, senhor, E o ritual é bem específico. Três de nós devem ficar de pé, juntos, e chamar os nomes sagrados enquanto sangue inocente coagula e pulsa aos nossos pés.
Olhei para cima, para o homem gordo, e gani uma pergunta. Ele acariciou minha nuca sonolentamente.
— É claro que ela não ama você, garoto. Ela mal existe neste plano em nenhum sentido material.
A neve começou a cair mais uma vez. A fogueira estava se apagando.
— A sua transformação hoje, incidentalmente, eu opinaria, é resultado direto das mesmas configurações celestiais e forças lunares que fizeram desta noite um momento perfeito para trazer de volta meus velho amigos do Inferior...
Continuou a falar com sua voz profunda e talvez estivesse me dizendo coisas importantes. Nunca saberei, pois o apetite crescia dentre de mim e suas palavras perderam todo o sentido, exceto pela sombra do seu significado. Eu não tinha mais interesse no mar, ou no alto do penhasco, ou no homem gordo.
Havia cervos correndo nos bosques além da pradaria: podia farejá-los no ar noturno de inverno.
E eu estava, acima de tudo, faminto.
Eu estava nu quando voltei a mim novamente, no começo da manhã seguinte, um cervo meio comido ao meu lado, na neve. Uma mosca andava no seu olho, e sua língua pendia da boca morta, tornando-o cômico e patético, como um animal de história em quadrinhos.
A neve estava manchada de um escarlate fluorescente onde a barriga do cervo tinha sido aberta.
Meu rosto e peito estavam pegajosos e vermelhos com aquele troço. Minha garganta tinha cascas de ferida, cicatrizes e ardia; na próxima lua cheia, estaria curada novamente.
O sol estava longe, pequeno e amarelo, mas o céu azul e sem nuvens. Não havia brisa. Podia ouvir o rugir do mar um pouco distante dali.
Eu estava com frio, nu, coberto de sangue e só. Ah, bom, pensei, acontece com todos nós no começo. Comigo é só uma vez por mês.
Estava exaurido a ponto de sentir dor, mas iria me esconder até encontrar um celeiro deserto ou uma caverna e então dormiria por duas semanas.
Um gavião voou baixo sobre a neve em minha direção com alguma coisa pendendo de suas garras. Pairou sobre mim por um segundo, então deixou cair uma pequena lula cinza na neve, aos meus pés, e voou para cima. A coisa flácida ficou lá, parada, silenciosa e tentacular na neve sangrenta.
Tomei isso como um presságio, mas, se bom ou ruim, não poderia dizer e realmente não me importava mais; dei as costas para o mar, em direção à sombria Innsmouth e comecei a andar rumo à cidade.
ARREMATE POR ATACADO
Peter Pinter nunca tinha ouvido falar de Aristipo de Cirenaica, um seguidor menos conhecido de Sócrates que afirmava que evitar problemas era o maior bem a ser atingido. Entretanto, ele tinha vivido sua monótona vida de acordo com esse preceito. Em todos os aspectos, exceto um (uma falta de habilidade para rejeitar uma pechincha, e qual de nós está completamente livre disso?), era um homem muito moderado. Não fazia nada radical. Sua conversa era apropriada e reservada; raramente comia demais; bebia o suficiente para ser social e nada mais; estava longe de ser rico, mas de forma alguma era pobre. Gostava das pessoas e as pessoas gostavam dele. Tendo tudo isso em mente, você esperaria encontrá-lo num pub de baixo nível na pior parte do East End de Londres, fechando o que se conhece coloquialmente como "contrato" para dar cabo de alguém que ele mal conhecia? Não, você não esperaria. Nem mesmo esperaria encontrá-lo no pub.
E, até uma certa sexta-feira à tarde, você teria toda a razão. Mas o amor de uma mulher pode fazer coisas estranhas a um homem, até mesmo a um tão sem sal quanto Peter Pinter, e a descoberta de que a senhorita Gwendolyn Thorpe, vinte e três anos, residente no Oaktree Terrace, 9, em Purley, estava de enrosco (como diria o populacho) com um afável e jovem mancebo do departamento de contabilidade — depois, note bem, de ela ter consentido em usar um anel de noivado, feito de rubis verdadeiros, ouro de nove quilates e alguma coisa que poderia muito bem ser um diamante (37 libras e cinqüenta pence), cuja escolha tomou quase toda a hora do almoço de Peter — pode fazer coisas realmente estranhas a um homem.
Depois de fazer essa descoberta chocante, Peter passou a noite de sexta-feira insone, agitando-se e virando-se com visões de Gwendolyn e Archie Gibbons (o Don Juan do departamento de contabilidade da Clamages), dançando e nadando frente a seus olhos — fazendo atos que até mesmo Peter, se pressionado, teria de admitir serem muito improváveis. Mas a bile do ciúme tinha emergido dentro dele e, de manhã, havia resolvido que seu rival deveria ser aniquilado.
A manhã de sábado foi despendida indagando-se como alguém entrava em contato com um assassino, pois, até onde Peter sabia, nenhum era empregado pela Clamages (a loja de departamentos que empregava os três membros do nosso eterno triângulo e que, incidentalmente, forneceu o anel) e ele era cauteloso com relação a perguntar a alguém abertamente por temer atrair atenção sobre si.
Assim, o sábado à tarde encontrou-o caçando petas Páginas amarelas.
ASSASSINOS, descobriu, não estava entre ASPIRADORES DE PÓ (CONSERTO) e ASSESSORIA (QUANTIDADE); MATADORES não estava entre MASSAS ALIMENTÍCIAS e MATADOUROS; HOMICIDAS não estava entre HOMEOPATIA e HOSPEDARIAS. CONTROLE DE PRAGAS pareceu promissor; entretanto, uma investigação mais minuciosa dos anúncios revelou-os quase que somente envolvidos com "ratos, camundongos, pulgas, baratas, coelhos, toupeiras e ratos" (para citar um que Peter achou ser um tanto duro com os ratos) e não o que realmente tinha em mente. Mesmo assim, sendo de natureza cuidadosa, ele zelosamente inspecionou os itens daquela categoria e, no fim da segunda página, em letras pequenas, encontrou uma firma que parecia ser promissora.
"Completa e discreta remoção de mamíferos etc, indesejáveis e maçantes", dizia o anúncio, "Ketch, Hare, Burke e Ketch. A Velha Firma", Não dava o endereço, apenas o número do telefone.
Peter discou o número, surpreendendo-se ao fazê-lo. Seu coração martelava no peito e tentou parecer indiferente. O telefone tocou uma, duas, três vezes. Peter estava começando a ter esperanças de que não seria atendido e que ele poderia esquecer tudo, quando houve um clique e a voz enérgica de uma jovem disse:
— Ketch, Hare, Burke e Ketch. Em que posso ajudá-lo?
Cuidadosamente, não dando o seu nome, Peter disse:
— Hã, qual o tamanho, quero dizer, até que tamanho de mamíferos vocês... digo... hã... removem?
— Bom, isso depende de que tamanho o senhor precisa.
Ele criou coragem.
— Uma pessoa?
A voz dela continuou enérgica e tranqüila.
— Entendo. O senhor tem caneta e papel à mão? Bom. Esteja no pub Burro Sujo, na rua Little Courtney, E3, hoje à noite às oito horas. Traga um exemplar enrolado do Financial Times — aquele cor de rosa, senhor — e lá o nosso operador o abordará.
Então, ela desligou o telefone.
Peter estava exultante. Tinha sido muito mais fácil do que havia imaginado. Desceu até a banca de jornal e comprou um exemplar do Financial Times, encontrou a rua Little Courtney no seu guia Londres de A-Z, e passou o resto da tarde assistindo ao futebol na televisão e imaginando o funeral do afável e jovem mancebo da contabilidade.
Peter demorou um pouco para achar o pub. Finalmente, viu a placa do pub, que mostrava um burro e, sim, ele era impressionantemente sujo.
O Burro Sujo era um pub pequeno e mais ou menos imundo, pobremente iluminado, no qual grupos de pessoas com barba por fazer, vestindo casacos cor de burro e empoeirados ficavam olhando uns aos outros desconfiadamente, comendo salgadinhos e bebendo quartilhos de Guinness, uma bebida com que Peter nunca se importou.
Ele segurava seu Financial Times sob um braço, tão visível quanto podia, mas ninguém se aproximou. Então, comprou meio shandy e retirou-se para uma mesa de canto. Incapaz de pensar em nada mais para fazer enquanto esperava, tentou ler o jornal, porém, perdido e confuso com um labirinto de mercado futuro de grãos e uma empresa de borracha que estava vendendo alguma coisa ou outra que estava desprovida (de que coisas estava desprovida ele não pôde dizer), desistiu e encarou a porta.
Tinha esperado quase dez minutos quando um pequeno homem de negócios forçou seu caminho pub adentro e olhou rapidamente à sua volta. Então, foi direto até a mesa de Peter e se sentou.
Estendeu sua mão.
— Kemble. Burton Kemble da Ketch, Hare, Burk e Ketch. Disseram-me que o senhor tem um trabalho pra nós.
Não parecia um matador. Peter disse isso.
— Oh, não, Deus me livre, não, Eu não faço realmente parte da nossa força de trabalho, senhor. Estou em vendas.
Peter assentiu com a cabeça. Aquilo certamente fazia sentido.
— Podemos, hã, falar abertamente aqui?
— Claro, ninguém está interessado. Bom, quantas pessoas o senhor gostaria de remover.
— Apenas uma. Seu nome é Archibald Gibbons e ele trabalha no departamento de contabilidade da Clamages. Seu endereço é...
Kemble interrompeu.
— Podemos ver isso tudo depois, senhor, se não se importar. Vamos rapidamente ver o lado financeiro. Primeiro, o contrato vai lhe custar quinhentas libras...
Peter concordou balançando a cabeça. Podia pagar aquela soma e, de fato, achou que custaria um pouco mais.
— ...apesar de sempre haver a oferta especial — concluiu Kemble afavelmente.
Os olhos de Peter brilharam. Conforme mencionei antes, ele adorava uma pechincha e freqüentemente comprava coisas que não imaginava usar em liquidações e ofertas especiais. Fora esse defeito (o qual muitos de nós compartilham), ele era um jovem muito moderado.
— Oferta especial?
— Dois pelo preço de um, senhor.
Mmm. Peter pensou a respeito. Aquilo dava apenas 250 libras cada um, o que não poderia ser mal, não importa como você veja. Havia apenas um empecilho.
— Creio que não tenha ninguém mais que eu queira que morra.
Kemble pareceu desapontado.
— É uma pena, senhor. Por dois, provavelmente poderíamos até abaixar o preço, digamos 450 libras por ambos.
— Sério?
— Bom, isso daria aos nossos operadores algo que fazer, senhor. O senhor deve saber — e aqui ele baixou sua voz — que não há, de fato, muito trabalho nesse ramo em particular para mantê-los ocupados. Não como nos velhos tempos. Não há só mais uma pessoa que o senhor gostaria de ver morta?
Peter ponderou. Odiava perder uma pechincha, mas não conseguia, pela sua vida, pensar em mais alguém. Gostava das pessoas. Mesmo assim, uma pechincha era uma pechincha...
— Ouça — disse Peter. — Posso pensar nisso e ver você amanhã à noite?
O vendedor pareceu satisfeito.
— Claro, senhor — disse. — Eu estou certo de que o senhor pensará em alguém.
A resposta — a resposta óbvia — veio a Peter quando ele estava vagueando entre o acordado e o dormindo, naquela noite. Sentou-se na cama, acendeu desajeitadamente a luz do criado-mudo e escreveu um nome nas costas de um envelope, caso viesse a se esquecer. Para dizer a verdade, ele achou que não conseguiria esquecer, pois era dolorosamente óbvio, mas você nunca pode confiar nesses pensamentos da madrugada.
O nome que tinha escrito nas costas do envelope era o seguinte: Gwendolyn Thorpe.
Desligou a luz, virou-se para o lado e logo estava dormindo, sonhando sonhos pacíficos que notavelmente nada tinham a ver com assassinatos.
Kemble esperava por ele quando chegou ao Burro Sujo no domingo à noite. Peter pegou uma bebida e sentou-se ao seu lado.
— Estou aceitando a oferta especial — disse como cumprimento, Kemble assentiu vigorosamente com a cabeça.
— Uma decisão muito sábia, se o senhor não se importa com meu comentário.
Peter Pinter sorriu modestamente, da maneira como sorri alguém que lê o Financial Times e toma sábias decisões de negócios.
— Serão quatrocentas e cinqüenta libras, creio.
— Eu disse quatrocentas e cinqüenta libras, senhor? Meu Deus, me desculpe, por favor. Eu estava pensando na nossa taxa para grandes quantidades. Seriam quatrocentas e setenta e cinco libras para duas pessoas.
— Taxa para grandes quantidades?
— Claro, mas duvido que o senhor esteja interessado nisso.
— Não, estou sim. Fale-me a respeito.
— Muito bem, senhor. Taxa para grandes quantidades seria para um trabalho grande, dez pessoas.
Peter perguntou-se se havia entendido direito.
— Dez pessoas? Mas é só quarenta e cinco libras por pessoa.
— Sim, senhor. São os pedidos grandes que tornam o negócio lucrativo.
— Entendo — disse Peter. — Mmm, você poderia estar aqui amanhã à noite na mesma hora?
— Claro, senhor.
Ao chegar em casa, Peter pegou um pedaço de papel e uma caneta. Escreveu os números de um a dez em um lado e depois os completou da seguinte maneira:
1..........Archie G.
2..........Gwennie.
3..........
E assim por diante.
Tendo preenchido os dois primeiros, sentou-se chupando sua caneta, caçando afrontas feitas a ele e pessoas sem as quais o mundo seria melhor.
Fumou um cigarro. Andou pelo quarto.
Ahá! Havia um professor de física na escola que freqüentara que adorava tornar sua vida miserável. Qual era seu nome mesmo? E, a propósito, ainda estaria vivo? Peter não tinha certeza, mas escreveu O Professor de Física, Escola Secundária da Rua Abbot, ao lado do número três. O próximo veio mais facilmente — o chefe do seu departamento tinha recusado aumentar seu salário dois meses atrás; o fato de o aumento ter finalmente vindo não importava. Sr. Hunterson era o número quatro.
Quando tinha cinco anos de idade, um garoto chamado Simon Ellis derramou tinta na sua cabeça enquanto outro menino chamado James Fulano ou Sicrano o segurava e uma menina chamada Sharon Hartsharpe ria. Eram números cinco a sete respectivamente.
Quem mais?
Havia o homem da televisão com risinho irritante que lia as notícias. Entrou na lista. E a mulher do apartamento vizinho com o cachorrinho vira-latas que cagou no saguão? Colocou-a e o cachorro no número nove. Coçou a cabeça e foi até a cozinha tomar uma xícara de café, depois voltou correndo e escreveu Meu tio-avô Mervyn no décimo lugar. Havia rumores de que o velho era bem influente e havia a possibilidade (se bem que um tanto exígua) de que pudesse deixar algum dinheiro para Peter.
Com a satisfação de uma noite de trabalho bem feito, foi para a cama.
A segunda-feira na Clamages foi rotineira. Peter era um assistente de vendas sênior no departamento de livros, um trabalho que realmente acarretava muito pouca responsabilidade. Agarrou sua lista, apertando-a na mão, no fundo do bolso, rejubilando-se pelo sentimento de poder que ela lhe dava. Passou uma hora de almoço muito agradável na cantina com a jovem Gwendolyn (que não sabia que ele a tinha visto entrar junto com Archie na sala de estoque) e até mesmo sorriu para o jovem afável do departamento de contabilidade quando se cruzaram no corredor.
Ele mostrou orgulhosamente a lista a Kemble naquela noite.
O rosto do pequeno vendedor caiu.
— Receio que não sejam dez pessoas, Sr. Pinter — explicou. — O senhor contou a mulher do apartamento vizinho e seu cachorro como uma pessoa. Isso dá onze, o que seria um extra — sua calculadora de bolso foi rapidamente colocada em ação — um extra de setenta libras. E se esquecermos o cachorro?
Peter balançou a cabeça negativamente.
— O cachorro é tão mau quanto a mulher. Ou pior.
— Então, receio que temos um pequeno problema. A não ser que...
— O quê?
— A não ser que o senhor utilize as vantagens da nossa taxa de venda por atacado. Mas é claro que o senhor não estaria...
Há palavras que fazem coisas com as pessoas, palavras que levam rostos a se ruborizarem de prazer, entusiasmo ou paixão. Ambiental pode ser uma; oculto é outra. Atacado era a palavra de Peter. Ele se recostou na sua cadeira.
— Fale-me a respeito — disse com a certeza ensaiada de um lojista experiente.
— Bom, senhor — disse Kemble permitindo-se um risinho —, podemos, hã, arrematar todos para o senhor por atacado, dezessete libras e cinqüenta cada para toda vítima além das cinqüenta primeiras, ou dez libras cada acima de duzentas.
— Suponho que você abaixaria para cinco se eu quisesse despachar mil pessoas?
— Oh não, senhor. — Kemble pareceu chocado. — Se o senhor fala de um número assim, podemos fazer por uma libra cada.
— Uma libra?
— Isso mesmo, senhor. Não há uma grande margem de lucro, mas a alta quantia de dinheiro movimentado no negócio e a maior produtividade mais do que justificam.
Kemble levantou-se.
— A mesma hora amanhã, senhor?
Peter assentiu com a cabeça.
Mil libras, Mil pessoas. Peter Pinter nem mesmo conhecia mil pessoas. Mesmo assim... havia o Parlamento. Não gostava dos políticos; eles discutiam, disputavam e se comportavam mal.
E para aquela questão...
Uma idéia, chocante pela audácia. Corajosa. Ousada. Ainda assim, a idéia estava lá e não iria embora. Uma prima sua distante tinha se casado com o irmão mais novo de um conde, ou um barão, ou coisa assim.
No caminho do trabalho para casa, naquela tarde, ele parou numa lojinha pela qual tinha passado mil vezes sem entrar. Uma grande placa na janela garantia traçar-lhe a linhagem e até mesmo desenhar um brasão, caso tivesse perdido o seu por descuido. Havia também um mapa heráldico impressionante.
Eles foram de grande auxilio e lhe telefonaram logo depois das sete para lhe dar a notícia.
Se aproximadamente quatorze milhões, setenta e duas mil, oitocentas e onze pessoas morressem, ele, Peter Pinter, seria o Rei da Inglaterra.
Peter não tinha quatorze milhões, setenta e duas mil, oitocentas e onze libras, mas suspeitava de que, quando se falasse dessa cifra, o Senhor Kemble teria um dos seus descontos especiais.
E o Sr. Kemble tinha.
Ele nem mesmo ergueu a sobrancelha.
— Na verdade — explicou —, funciona bem barato; veja bem, não teríamos de lidar com todos individualmente. Armas nucleares de pequena escala, alguns bombardeios criteriosos, ataque com gás, praga, jogar isótopos radiativos em piscinas e, então, efetuar operação de limpeza. Digamos, quatro mil libras.
— Quatro mi...? Isso é inacreditável!
O vendedor pareceu satisfeito consigo mesmo.
— Nossos operadores ficarão contentes com o trabalho, senhor — Ele sorriu. — Temos orgulho de servir nossos clientes por atacado.
O vento soprava frio quando Peter saiu do pub, fazendo a velha placa balançar. Não parecia muito com um burro sujo, pensou Peter. Lembrava mais um cavalo branco.
Peter estava vagueando entre o dormindo e o acordado naquela noite, ensaiando mentalmente o discurso da sua coroação, quando um pensamento entrou e se fixou em sua mente. Não saía de lá. Será que ele podia — seria possível que estivesse deixando passar uma economia ainda maior do que a que já havia conseguido? Será que podia estar perdendo uma pechincha?
Peter arrastou-se para fora da cama e andou até o telefone. Era quase três da manhã, mas mesmo assim...
Sua Páginas amarelas estava aberta onde havia deixado, no sábado anterior, e ele discou o número,
O telefone parecia tocar eternamente. Houve um clique e uma voz entediada disse:
— Burke Hare Ketch. Em que posso ajudar?
— Espero não estar ligando muito tarde — começou ele...
— Em absoluto, senhor.
— Será que eu poderia falar com o Sr. Kemble?
— O senhor pode aguardar? Verei se ele está disponível.
Peter esperou alguns minutos, ouvindo os estalos e sussurros fantasmagóricos que sempre ecoam pelas linhas telefônicas em silêncio.
— O senhor ainda está aí?
— Sim, estou aqui.
— Estou passando. — Houve um zumbido e então:
— Kemble falando.
— Ah, Sr. Kemble. Olá. Sinto se o tirei da cama ou coisa assim. Aqui é, hmm, Peter Pinter.
— Sim, Senhor Pinter?
— Bom, sinto muito que seja tão tarde. É só que, eu queria... Quanto custaria para matar todo mundo? Todas as pessoas do mundo?
— Todo mundo? Todas as pessoas?
— Sim. Quanto? Quer dizer, para um pedido como este vocês teriam algum tipo de desconto grande, não? Quanto seria? Para todo mundo?
— Nada, Sr. Pinter.
— Quer dizer que vocês não fariam isso?
— Quero dizer que faríamos isso de graça, Sr. Pinter. Temos apenas de ser solicitados, veja bem. Sempre temos de ser solicitados.
Peter estava confuso.
— Mas... quando vocês começam?
— Quando começamos? Agora mesmo. Agora. Estamos prontos já faz bastante tempo. Mas temos de ser solicitados, Sr. Pinter. Boa noite. Foi um prazer fazer negócio com o senhor.
A linha ficou muda.
Peter sentiu-se estranho. Tudo parecia muito distante. Queria se sentar. O que diabos o homem queria dizer? "Sempre temos de ser solicitados". Era sem dúvida estranho. Ninguém faz nada de graça neste mundo; ele decidiu ligar de volta para Kemble e cancelar a coisa toda. Talvez tenha reagido de forma muito dura. Quem sabe houvesse um motivo perfeitamente inocente para Archie e Gwendolyn entrarem no estoque juntos. Ele falaria com ela; era o que faria. Falaria com Gwendolyn, a primeira coisa na manhã seguinte...
Foi quando os barulhos começaram.
Gritos estranhos do outro lado da rua. Uma briga de gatos? Raposas, provavelmente. Esperava que alguém jogasse um sapato neles. Então, do corredor do lado de fora do seu apartamento, ouviu um som abafado de passos pesados, como se alguém estivesse arrastando algo muito pesado pelo chão. Parou. Alguém bateu na sua porta, duas vezes, muito suavemente,
Do lado de fora da janela, os gritos ficavam mais altos. Peter sentou-se na sua poltrona sabendo que de alguma forma, em algum lugar, ele havia cometido um equívoco. Alguma coisa importante. As batidas na porta redobraram. Ele estava grato por sempre trancar e passar a corrente à noite.
Eles já estavam prontos havia muito tempo, mas tinham de ser solicitados...
Quando a coisa passou pela porta, Peter começou a gritar, mas, na verdade, não por muito tempo.
UMA VIDA, GESTADA NOS PRIMEIROS TRABALHOS DE MOORCOCK
O pálido príncipe albino ergueu sua grande espada negra:
— Esta é Aquela Que Traz a Tempestade — disse ele ~ e ela sugará lua alma.
A Princesa suspirou.
— Muito bem — disse ela. — Se é o que necessitas para obter a energia de que precisas para combater os Guerreiros Dragões, então deves me matar e permitir à tua larga espada alimentar-se da minha alma.
— Não quero fazer isso — lamentou.
— Está tudo bem — garantiu a princesa e rasgou seu frágil vestido, desnudando o peito para ele, — Este é meu coração — disse, apontando-o com seu dedo. — E é onde deves imergir tua espada.
Ele nunca tinha ido além disso. Aconteceu no dia em que tinha sido informado que seria transferido para um ano letivo acima na escola, e não havia muito sentido continuar lendo depois disso. Tinha aprendido a não tentar continuar histórias de um ano para outro. Agora, tinha doze anos.
Apesar disso, era uma pena.
O título da redação tinha sido Encontrando minha personagem literária favorita, e ele havia escolhido Elric. Cogitara Corum, Jerry Cornelius, ou até mesmo Conan, o Bárbaro, mas Elric de Melnibone ganhou, com a mão nas costas, como sempre fazia.
Richard tinha lido Aquela que Traz a Tempestade, três anos antes, quando estava com nove. Tinha economizado para comprar um exemplar de A cidadela que canta (achou um logro quando acabou: apenas uma história de Elric) e, então, emprestou dinheiro do pai para comprar A feiticeira adormecida, Elric encontrara Erikose e Corum, dois outros aspectos do Eterno Campeão, e se uniram.
Isso significava, percebeu quando acabou de ler o livro, que as histórias de Corum e Erikose, e até mesmo as de Dorian Hawkmoon, eram na verdade histórias de EIric, também. Então, começou a comprá-las e a gostar delas.
Mesmo assim, não eram tão boas quanto as de Elric. Elric era o melhor.
Algumas vezes, sentava-se e desenhava Elric, tentando fazê-lo bem. Nenhuma das ilustrações do Elric nas capas dos livros parecia com o Elric que vivia em sua mente. Desenhava os Elrics com uma caneta tinteiro em livros de exercícios não preenchidos da escola que tinha obtido trapaceando. Na capa, escrevia seu nome: RICHARD GREY. NÃO ROUBE.
Às vezes, achava que deveria acabar sua história sobre Elric. Talvez até pudesse vendê-la para uma revista. Mas e se o Moorcock descobrisse? E se ele se metesse em encrenca?
A sala de aula era grande, cheia de carteiras de madeira. Cada carteira estava gravada, marcada e manchada com tinta pelo seu ocupante, um processo importante. Havia uma lousa na parede com um desenho de giz: uma retratação razoavelmente precisa de um pênis apontando para uma forma de Y, cuja intenção era representar a genitália feminina.
A porta bateu no andar de baixo, e alguém subiu a escada correndo,
— Grey, seu retardado, o que você está fazendo aqui? Era pra gente estar em campo. Você joga futebol hoje.
— Era pra gente estar? Eu?
— Foi anunciado na assembléia desta manhã. E a lista está no quadro de aviso de jogos.
- B. C. MacBride tinha cabelo cor de areia, usava óculos e era, em geral, mais organizado do que Richard Grey. Havia dois J. MacRrides, por isso ele era chamado por todas as suas iniciais.
— Ah.
Grey pegou um livro (Tarzan no coração da Terra) e foi atrás dele. As nuvens estavam cinza-escuras, prometendo chuva ou neve.
As pessoas sempre anunciavam coisas que ele não percebia. O menino costumava chegar em aulas vazias, perder jogos organizados, ir para a escola em dias que todo mundo tinha ido para casa. Às vezes, sentia que vivia num mundo diferente de todo o resto.
Foi jogar futebol, Tarzan no coração da Terra saindo do fundo do seu mal-acabado calção azul.
Ele odiava duchas e banhos. Não entendia porque tinha de fazer ambos, mas era assim que as coisas funcionavam.
Estava congelando e não era bom em jogos. Já estava se tornando uma questão de honra perversa o fato de que, em todos os seus anos de escola, nunca tivesse marcado um gol, ganho uma corrida, posto alguém para fora no boliche, ou feito qualquer coisa, exceto ser a última pessoa escolhida quando escalavam os times.
Elric, o orgulhoso príncipe dos melnibonianos, jamais teria de ficar num campo de futebol no meio do inverno, desejando que o jogo terminasse.
Vapor dos chuveiros do vestiário e a parte interna das suas coxas estavam rachadas e vermelhas. Os meninos permaneciam nus e tremendo numa fila, esperando para tomar uma ducha e depois entrar nas banheiras.
O Senhor Mulchison, olhos selvagens, rosto coriáceo e enrugado, velho e quase careca, ficava no vestiário orientando os meninos nus para irem ao chuveiro e às banheiras.
— Você, menino. Seu tonto. Jamieson. Pro chuveiro, Jamieson. Atkinson, seu moleque, fique debaixo do chuveiro direito. Smiggins, pra banheira. Goring, tome o lugar dele no chuveiro...
Os chuveiros eram quentes demais. As banheiras geladas e barrentas.
Quando o senhor Mulchison não estava por perto, os garotos golpeavam-se uns aos outros com toalhas, faziam piadas sobre seus pênis, sobre quem tinha pêlos púbicos ou não.
— Não seja idiota — sibilou alguém perto de Richard, — Se o Murch voltar, ele te mata. Alguns meninos riam nervosos.
Richard virou-se e olhou. Um garoto mais velho tinha tido uma ereção e esfregava sua mão para baixo e para cima vagarosamente sob o chuveiro, mostrando orgulhosamente aquilo para o vestiário.
Richard virou-se para o outro lado.
Falsificar era fácil demais.
Richard podia fazer uma imitação passável da assinatura do Murch, por exemplo, e uma excelente versão da caligrafia e assinatura do diretor do seu colégio interno. Seu diretor era uma homem alto, careca, seco, chamado Trellis. Eles não gostavam um do outro havia anos.
Richard usava as assinaturas para conseguir livros de exercício em branco da papelaria, que distribuía papel, lápis, canetas e réguas mediante apresentação de nota assinada por um professor.
Richard escrevia histórias, poemas e fazia desenhos nos livros de exercício.
Depois do banho, Richard enxugou-se e vestiu-se apressadamente; tinha de voltar a um livro, um mundo perdido a retomar.
Saiu do prédio vagarosamente, gravata torta, camisa para fora da calça, lendo sobre Lord Greystoke, perguntando a si mesmo se realmente havia um mundo dentro da Terra, onde dinossauros voavam e nunca anoitecia.
A luz do dia começava a sumir, mas ainda havia alguns meninos fora da escola, brincando com bolas de tênis: dois jogavam conkers ao lado do banco. Richard recostou-se na parede de tijolos vermelhos e começou a ler; o mundo exterior foi bloqueado, as indignações dos vestiários esquecidas.
— Você é uma vergonha, Grey.
— Eu?
— Olhe pra você. Sua gravata está toda torta. Você é uma vergonha pra escola. Isso sim.
O nome do menino era Lindfield, dois anos letivos acima dele, mas já tão grande quanto um adulto. Lindfield puxou a gravata verde de Richard, apertou-a com força, fazendo um pequeno nó.
— Patético.
Lindfield e seus amigos afastaram-se.
Elric de Melnibone estava de pé ao lado das paredes de tijolo vermelho, fitando-o. Richard puxou o nó da sua gravata, tentando afrouxá-lo. Estava cortando sua garganta.
Suas mãos tateavam desajeitadamente o pescoço.
Não conseguia respirar, mas não estava preocupado em respirar. Estava preocupado em ficar de pé. Richard tinha repentinamente esquecido do que fazer para ficar de pé. Foi um alívio descobrir o quanto o caminho de tijolo onde estava tinha ficado macio, subindo vagarosamente para abraçá-lo.
Estavam juntos, de pé sob um céu noturno onde brilhavam mil estrelas enormes, ao lado das ruínas do que devia ter sido um antigo templo.
Os olhos de rubi de Elric fitavam-no. Pareciam, pensou Richard, os olhos de um perverso coelho branco que tivera, antes de o animalzinho roer o arame da gaiola e fugir para os campos de Sussex a fim de aterrorizar raposas inocentes.
Sua pele era imaculadamente branca, sua armadura, enfeitada e elegante, ornada com padrões intrincados, perfeitamente negra. Seu belo cabelo branco balançava nos ombros como se tocado pela brisa, mas o ar estava parado.
— Então você quer ser um dos companheiros dos heróis? — perguntou. Sua voz era mais suave do que Richard havia imaginado.
Richard assentiu com a cabeça.
Elric colocou um dedo comprido debaixo do queixo de Richard, levantou sua cabeça. Olhos de sangue, pensou Richard. Olhos de sangue.
— Você não é um companheiro, garoto — disse na Alta Fala de Melnibone.
Richard sempre soube que entenderia a Alta Fala quando a ouvisse, mesmo que o seu latim e francês fossem fracos.
— Bem, quem sou eu, então? — indagou. — Por favor, me diga. Por favor!
Elric não respondeu. Afastou-se de Richard, andando em direção às ruínas do templo.
O menino correu atrás dele.
Dentro do templo, Richard encontrou uma vida à sua espera, pronta para ser vestida e vivida, e dentro dessa vida, uma outra. Cada vida que vestia, deslizando para dentro dela, levava-o para mais longe, mais longe do mundo de onde tinha vindo. Uma a uma, existência após existência. Rios de sonhos e campos de estrelas; um gavião com um pardal preso nas garras voa baixo sobre a relva, e aqui estão pessoas minúsculas e intrincadas à sua espera a fim de encher suas cabeças com vida, e milhares de anos passam e ele está comprometido num trabalho de grande importância e beleza intensa, e é amado e honrado e, então, um puxão, um puxão abrupto e é...
... era como se emergisse do lado mais fundo de uma piscina. Estrelas apareceram acima dele e se afastaram, dissolvendo-se em azuis e cinzas. Foi com uma grande sensação de desapontamento que se tornou Richard Grey e voltou a si uma vez mais, sentindo uma emoção estranha. A emoção era específica, tão específica que, mais tarde, surpreendeu-se ao perceber que não tinha um nome: um sentimento de repulsa e pesar por ter de voltar a algo que tinha pensado que, há muito, fora posto de lado, abandonado, esquecido e morto.
Richard estava deitado no chão, e Lindfield puxava o minúsculo nó da sua gravata. Havia outros garotos ao redor; rostos fitando-o de cima, preocupados, ansiosos, amedrontados.
Lindfield afrouxou a gravata. Richard lutou para puxar o ar, arquejou, agarrou-o com os pulmões.
— A gente achou que você estivesse fingindo. Caiu assim, de repente — disse alguém.
— Cale a boca — disse Lindfield. — Você está bem? Sinto muito. Sinto muito mesmo. Meu Deus. Sinto muito.
Por um momento, Richard pensou que ele se desculpava por trazê-lo de volta do mundo além do templo.
Lindfield estava aterrorizado, solícito, desesperadamente preocupado. Sem dúvida, nunca havia antes quase matado alguém. Enquanto ajudava Richard a subir os degraus de pedra até a sala da enfermeira-chefe, explicava que tinha voltado da cantina da escola, encontrado Richard inconsciente no caminho, cercado de meninos curiosos e percebera o que estava errado. Richard descansou um pouco na sala da enfermeira-chefe, onde lhe foi dada uma aspirina solúvel e amarga. Depois, foi levado ao gabinete do diretor.
— Minha nossa, você está todo amarrotado, Grey! — disse o diretor, tragando seu cachimbo de maneira irritadiça. — Não culpo totalmente o jovem Lindfield. De qualquer forma, ele salvou sua vida. Não quero ouvir outra palavra sobre isso.
— Sinto muito — disse Grey.
— Isso acaba aqui — ordenou o diretor na sua nuvem de fumaça aromática.
— Você já escolheu sua religião? — perguntou o capelão da escola, Sr. Aliquid.
Richard balançou a cabeça negativamente.
— Tive poucas para escolher — admitiu.
O capelão da escola também era o professor de biologia de Richard. Recentemente, ele tinha levado a turma de biologia de Richard, meninos de quinze, treze anos e Richard, com apenas doze, à sua casa, do outro lado da estrada, em frente a escola. No jardim, o Sr. Aliquid matou, esfolou e desmembrou um coelho com uma faquinha afiada. Então, pegou uma bomba de bicicleta e encheu a bexiga do coelho como um balão até que ela explodiu, salpicando os garotos com sangue, Richard vomitou, mas foi o único.
— Hmm — disse o capelão.
O gabinete do capelão estava cheio de livros enfileirados. Era um dos poucos estúdios dos professores que, de alguma forma, era confortável.
— E masturbação? Você está se masturbando excessivamente? — Os olhos do Senhor Aliquid brilharam.
— O que é excessivamente?
— Ah. Mais do que três ou quatro vezes por dia, acho.
— Não — garantiu Richard. — Não excessivamente.
Ele era um ano mais novo do que qualquer um na classe e, algumas vezes, as pessoas esqueciam-se disso.
Todo fim de semana, ele viajava para North London, a fim de ficar com os primos e ter aulas para o bar mitzvah, dadas por um magro chazan ascético, mais frum impossível, um cabalista e guardião de mistérios ocultos para os quais ele podia ser dirigido com uma pergunta bem colocada. Richard era um especialista em perguntas bem colocadas.
Frum era judeu ortodoxo, linha-dura. Não admitia leite com carne e exigia duas máquinas de lavar para os dois jogos de pratos e talheres,
Não verás um rebento no leite da sua mãe.
Os primos de Richard em North London eram frum, apesar de ambos terem o hábito de comprar cheeseburgers em segredo depois da escola e de se gabarem, um ao outro, disso.
Richard suspeitava que seu corpo já estava irremediavelmente poluído. O que ele não fazia mesmo era comer coelho. Tinha comido coelho, sem gostar, por anos até descobrir o que era. Toda quinta-feira, havia o que acreditava ser um ensopado de galinha com gosto ruim. Numa dessas quintas-feiras, descobriu uma pata de coelho flutuando no seu ensopado e a ficha caiu. Depois disso, às quintas-feiras, enchia-se de pão com manteiga,
No trem de metrô para North London, sondava os rostos dos passageiros, perguntando a si mesmo se algum deles seria Michael Moorcock.
Se encontrasse Moorcock, perguntaria como voltar ao templo em ruínas.
Se encontrasse Moorcock, ficaria desconcertado demais para falar.
Algumas noites, quando seus pais saíam, ele tentava telefonar para Michael Moorcock.
Ligava para o auxílio à lista e pedia o número de Moorcock.
— Não posso dar a você, meu bem. Não está na lista.
Ele engabelava, adulava e nunca conseguia, para seu alívio. Não sabia o que diria a Moorcock se conseguisse telefonar.
Ticava os romances de Moorcock que já tinha lido, na página que indicava obras Do mesmo amor.
Naquele ano, parecia haver um novo livro de Moorcock toda semana. Ele os pegava na estação Victoria, a caminho das aulas de bar mitzvah.
Havia alguns que simplesmente não conseguia achar — Ladrão de almas e Café da manhã nas ruínas — e finalmente, nervoso, encomendou-os ao endereço que havia no fim dos livros. Pediu para o seu pai emitir um cheque.
Quando os livros chegaram, continham uma conta de vinte e cinco pence: os preços eram mais altos do que os originalmente informados. Ainda assim, agora ele tinha um exemplar do Ladrão de almas e do Café da manhã nas ruínas.
No fim de Café da manhã nas ruínas, havia uma biografia de Moorcock dizendo que o autor morrera de câncer no pulmão, no ano anterior.
Richard ficou abalado semanas a fio. Aquilo queria dizer que não haveria mais livros. Nunca mais.
Aquela porra de biografia. Logo depois que saiu, eu estava num show em Hawkwind, totalmente chapado, e as pessoas vinham até mim, e eu achei que estivesse morto. Ficavam dizendo "você está morto, você está morto". Mais tarde, percebi que estavam dizendo: "mas pensamos que você estivesse morto",
— Michael Moorcock, in conversa, Notting Hill, 1976
Havia o Eterno Campeão e os Companheiros dos Campeões. Moonglum era o companheiro de Elric, sempre alegre, o contraste perfeito para o pálido príncipe, que era presa de humores e depressões.
Existia um multiverso lá fora, brilhante e mágico. Havia os agentes do equilíbrio, os Deuses do Caos e os Senhores da Ordem. Havia as raças mais velhas, alias, pálidas e élficas, bem como os reinos jovens, cheios de gente como ele. Pessoas estúpidas, enfadonhas, normais.
Às vezes, ele esperava que Elric pudesse achar paz longe da espada negra. Mas não funcionava daquele jeito. Tinha de haver ambos — o príncipe branco e a espada negra.
Uma vez desembainhada, a espada ansiava por sangue, precisava ser enfiada na carne palpitante. Então, drenava a alma da vítima, alimentando com sua energia a frágil constituição de Elric.
Richard estava ficando obcecado com sexo; tinha até tido um sonho no qual fazia sexo com uma garota. Imediatamente antes de acordar, sonhou com o que deveria ser um orgasmo — era um sentimento intenso e mágico de amor, centrado no seu coração; era assim, no seu sonho.
Um sentimento de profunda e transcendente felicidade espiritual.
Nada que havia experimentado igualava-se a esse sonho.
Nada nem mesmo chegava perto.
O Karl Glogauer do Veja o homem não era o Karl Glogauer do Café da manhã nas ruínas, concluiu Richard. Mesmo assim, deu-lhe um orgulho estranho, blasfemo, ler Café da manhã nas ruínas na capela da escola, na galeria do coral. Desde que fosse discreto, ninguém parecia ligar.
Era o garoto com o livro. Sempre e para sempre.
Sua cabeça girava com religião. O fim de semana era agora dedicado aos intrincados padrões e à língua do judaísmo. Todas as manhãs durante a semana eram dadas às solenidades da Igreja da Inglaterra, que cheirava a madeira, iluminada com vitrais; e as noites pertenciam à sua própria religião, a que ele inventara para si mesmo, um panteão multicolorido no qual os Senhores do Caos (Arioch, Xiombarg e o resto) andavam lado a lado com o Vingador Fantasma da DC Comics; Sam, o Buda trapaceiro do Senhor da luz, de Zeiazny, vampiros, gatos falantes, ogros e todas as coisas dos livros coloridos de fadas de Lang, no qual todas as mitologias existiam simultaneamente numa magnífica anarquia de crenças.
Richard, entretanto, finalmente desistira (com um pouco, deve-se admitir, de arrependimento) da sua crença em Narnia. Desde os seis anos de idade — pela metade da sua vida — acreditara nas coisas de Narnia com devoção. Até que, no ano anterior, ao reler A viagem do andarilho do amanhecer, talvez pela centésima vez, ocorreu-lhe que a transformação do desagradável Eustace Scrub num dragão e sua subseqüente conversão à crença de Aslan, o leão, era terrivelmente semelhante à conversão de São Paulo na estrada para Damasco. Se sua cegueira fosse um dragão...
Tendo lhe ocorrido isso, Richard encontrou correlações em toda a parte, muitas para serem simples coincidências.
Richard pôs os livros de Narnia de lado, tristemente convencido de que eram alegorias; de que o autor (em quem ele tinha confiado) estivera tentando esconder alguma coisa dele. Tivera o mesmo desgosto com as histórias do Professor Challenger, quando o velho professor com pescoço de touro converteu-se ao espiritismo. Não que Richard tivesse qualquer problema em acreditar em espíritos — ele acreditava, sem problemas ou contradições, em tudo — mas Conan Doyle estava pregando, e isso ficava evidente nas palavras que empregava.
Richard era jovem e inocente à sua maneira e acreditava que se devia confiar nos escritores e que não deveria haver nada oculto abaixo da superfície de uma história.
Ao menos as histórias de Elric eram honestas. Lá, não havia nada acontecendo abaixo da superfície: Elric era o príncipe estiolado de uma raça morta, ardendo de autopiedade, agarrando Aquela Que Traz a Tempestade, sua espada de lâmina negra — uma lâmina que cantava por vidas, que devorava almas humanas e que dava a força destas ao albino fraco e condenado.
Richard lia e relia as histórias de Elric e sentia prazer a cada vez que Aquela Que Traz a Tempestade cravava-se no peito de um inimigo. Sentia, de alguma forma, uma satisfação solidária enquanto Elric retirava sua força da espada-alma, como um viciado em heroína, num livro policial, com um novo suprimento da droga.
Richard estava convencido de que, um dia, as pessoas da Mayflower Books viriam atrás dele por causa dos 25 pence. Ele nunca mais ousou comprar outro livro pelo correio.
- B. C. MacBride tinha um segredo.
— Você nâo deve contar pra ninguém.
— Certo.
Richard não tinha problema em guardar segredos. Nos últimos anos, percebera que era um repositório ambulante de velhos segredos, segredos que seus confidentes originais tinham provavelmente esquecido há muito tempo.
Estavam andando, com seus braços nos ombros um do outro, até o bosque nos fundos da escola.
A Richard tinha sido, sem que ele tivesse pedido, confiado outro segredo neste bosque: era aqui que três de seus amigos encontravam-se com garotas do vilarejo e onde, tinham-lhe contado, mostravam suas genitálias uns aos outros.
— Não posso dizer quem me disse isso.
— Certo. — disse Richard.
— É sério, cara. E é um segredo mortal,
— Tudo bem.
MacBride passava, recentemente, muito tempo com o Senhor Aliquid, 0 capelão da escola.
— Bom, todo mundo tem dois anjos. Deus dá um pra gente e Satanás dá outro. Assim, quando você é hipnotizado, o anjo de Satanás assume o controle. E é assim que os tabuleiros de Ouija funcionam. É o anjo de Satanás. E você pode implorar ao seu anjo de Deus pra falar através de você. Mas a iluminação real só acontece quando você pode conversar com o seu anjo. Ele conta segredos.
Essa foi a primeira vez que ocorreu a Grey que a Igreja da Inglaterra poderia ter seus próprios conhecimentos esotéricos, sua própria cabala oculta.
O outro garoto piscou como uma coruja.
— Você não deve contar isso a ninguém. Eu iria ter problemas se descobrissem que abri o jogo.
— Tudo bem.
Houve uma pausa.
— Você já bateu uma punheta pra um adulto? — perguntou MacBride.
— Não.
O segredo de Richard era que ele ainda não tinha começado a se masturbar. Todos os seus amigos se masturbavam, continuamente, sozinhos, em pares ou em grupos, ele era um ano mais novo e não conseguia entender o porquê daquele estardalhaço. A idéia deixava-o desconfortável.
— Espirra pra todo o lado. É espesso e grudento. Eles tentam colocar os pintos na boca da gente quando gozam.
— Eca.
— Não é tão ruim. — Houve uma pausa. — Sabe, o Sr. Aliquid acha que você é muito esperto. Se quisesse se unir ao seu grupo de discussão religiosa particular, talvez ele aceitasse.
O grupo de discussão particular reunia-se na pequena casa do Sr. Aliquid, em frente à escola, do outro lado da estrada, à noite, duas vezes por semana depois da aula preparatória.
— Eu não sou cristão.
— E daí? Você é o melhor da aula de Religião, judeuzinho.
— Não, obrigado. Ei; tenho um novo Moorcock. Um que você ainda não leu. É um livro do Elric.
— Mentira. Não tem nenhum novo.
— Tem sim. Chama-se Os olhos do homem de jade. E impresso com tinta verde. Achei numa livraria em Brighton.
— Posso pegar emprestado depois que você ler?
— Claro.
Estava ficando frio e eles voltaram, de braços dados. Como Elric e Moonglum, pensou Richard, e fazia tanto sentido quanto os anjos de MacBride.
Richard sonhava acordado que raptava Michael Moorcock e o fazia contar-lhe o segredo.
Se pressionado, Richard não seria capaz de dizer que tipo de coisa era o segredo. Tinha a ver com escrever; algo a ver com os deuses.
Richard perguntava-se de onde Moorcock tirava suas idéias.
Provavelmente do templo em ruínas, concluiu no final, apesar de não se lembrar mais de como o templo era.
Lembrava-se de uma sombra, estrelas e da sensação de dor ao retornar para uma coisa que pensava há muito ter acabado.
Perguntava a si mesmo se aquele era o lugar de onde todos os escritores tiravam suas idéias ou apenas Michael Moorcock.
Se lhe tivessem dito que simplesmente inventam tudo, das suas cabeças, ele jamais teria acreditado. Tinha de haver um lugar de onde vinha a mágica.
Não tinha?
Um cara me telefonou da América, numa noite dessas, e disse: "Ouça, cara, eu tenho de falar com você sobre sua religíão". Eu disse: "Não sei do quês você está falando. Eu não tenho porra de religião nenhuma".
— Michael Moorcock, in conversation, Notting Hill, 1976
Seis meses mais tarde. Richard já tinha feito seu bar mitzvah e logo estaria mudando de escola. Ele e J. B. C. MacBride estavam sentados no gramado, do lado de fora da escola no começo da noite, lendo livros. Os pais de Richard estavam atrasados para pegá-ío.
Richard estava lendo O assassino inglês. MacBride estava absorvido em O diabo resiste.
Richard viu-se entrecerrando os olhos na página. Ainda não estava totalmente escuro, mas ele não conseguia mais ler. Tudo estava ficando cinza.
— Mac? O que você quer ser quando crescer?
A noite estava quente e a grama seca e confortável.
— Sei lá. Um escritor, talvez. Como Michael Moorcock. Ou T. H. White. E você?
Richard sentou-se e pensou. O céu estava cinza violáceo e uma lua fantasmagórica pendurava-se no alto, como uma lasca de sonho. Ele arrancou um talo de grama e vagarosamente rasgou-o com seus dedos, pedacinho por pedacinho. Não podia dizer "um escritor" agora. Pareceria que o estava imitando. E ele não queria ser um escritor. Não de fato. Havia outras coisas para ser.
— Quando eu crescer — por fim, disse pensativo — quero ser um lobo.
— Isso nunca vai acontecer — disse MacBride.
— Talvez não — disse Richard. — Veremos.
As luzes acenderam-se nas janelas da escola, uma a uma, fazendo com que o céu violeta parecesse mais escuro do que antes, e a noite de verão estava suave e serena. Nesta época do ano, o dia dura para sempre e a noite nunca vem.
— Gostaria de ser um lobo. Não o tempo todo. Só algumas vezes. Na escuridão. Eu correria pelas florestas como um lobo na noite — disse Richard, mais para si mesmo. — Nunca machucaria ninguém. Não esse tipo de lobo. Apenas correria e correria pra sempre sob o luar, pelas árvores e nunca me cansaria, ou ficaria sem fôlego, e nunca teria de parar. É isso que quero ser quando crescer...
Arrancou outro talo comprido de grama, tirou as folhas dele com destreza e, vagarosamente, começou a mascar o talo.
E as duas crianças sentadas sozinhas no lusco-fusco cinza, lado a lado, esperavam o futuro começar.
O VARREDOR DE SONHOS
Depois que os sonhos acabam, depois que você acorda e troca um mundo de loucura e glória pelo trabalho diário, maçante e mundano, iluminado pelo dia, pelas ruínas das suas fantasias abandonadas, vem o varredor de sonhos.
Quem sabe o que era quando estava vivo? Ou se, a propósito, já esteve vivo alguma vez? Certamente, ele não responderá suas perguntas. O varredor fala pouco, com sua voz áspera e lúgubre, e, quando fala, é quase sempre sobre o tempo e sobre as perspectivas, vitórias e derrotas de certos times esportivos. Ele despreza todo mundo exceto a si próprio.
Assim que você acorda, ele se aproxima e varre reinos e castelos, anjos e corujas, montanhas e oceanos. Varre a lascívia, o amor e os amantes, os sábios que não são borboletas, as flores de carne, o galope dos gamos e o naufrágio do Lusitânia. Ele varre tudo deixado para trás nos seus sonhos, a vida que você vestiu, os olhos pelos quais viu, o papel do exame que nunca foi capaz de encontrar. Um a um, varre-os para longe; a mulher de dentes afiados que os afunda no seu rosto; as freiras na floresta; o braço morto que fendeu pela tépida água do banho; os vermes escarlates que rastejavam no seu peito quando você abriu a camisa.
Ele varrerá tudo — tudo o que você deixou para trás quando acordou. E, então, queimará o que acumulou, deixando o palco limpo para os seus próximos sonhos.
Trate-o bem, se você o vir. Seja educado. Não lhe faça perguntas. Aplauda as vitórias dos seus times, compadeça-se pelas suas derrotas, concorde com ele sobre o tempo. Dê-lhe o respeito que o varredor acha que lhe é devido.
Pois há pessoas que ele, o varredor de sonhos, com seus cigarros enrolados à mão e sua tatuagem de dragão, não visita mais.
Você já as viu. Elas têm bocas crispadas e olhos que fitam enquanto balbuciam, choramingam e se lamuriam. Algumas andam pela cidade vestindo molambos, seus pertences debaixo dos braços. Outras estão trancadas na escuridão, em lugares onde não podem causar dano a si mesmos nem aos outros. Não são loucos, ou melhor, a perda da sua sanidade é o menor dos seus problemas. É pior do que a loucura. Elas lhe dirão, se você lhes permitir: são aquelas que vivem, a cada dia, na ruína dos próprios sonhos.
E, se o varredor de sonhos abandonar você, ele nunca mais voltará.
PARTES ESTRANGEIRAS
Simon Powers não gostava de sexo. Não mesmo.
Não gostava de ter outra pessoa na mesma cama. Tinha suspeitas de que gozava rápido demais. Incomodava-se sempre com que seu desempenho estivesse sendo avaliado, como um teste de motorista ou um exame prático.
Tinha transado na faculdade umas poucas vezes e uma outra, três anos atrás, depois da festa de Ano Novo do escritório. Mas isso tinha sido tudo e, até onde lhe dizia respeito, Simon queria estar fora disso.
Ocorreu-lhe uma vez, durante uma hora de folga no escritório, que teria gostado de viver nos dias da Rainha Vitória, quando mulheres bem-educadas não eram mais do que bonecas sexuais ressentidas na alcova: desamarravam seus espartilhos, soltavam suas anáguas (revelando a carne branco-rosada) e, então, deitavam-se para sofrer as indignações do ato carnal — uma indignação da qual nunca lhes ocorreu pensar que deveriam desfrutar.
Ele arquivou essa idéia para mais tarde; outra fantasia masturbatória.
Simon masturbava-se bastante. Todas as noites — às vezes mais do que isso, se não conseguia dormir. Poderia demorar ou ir rápido, o quanto queria, para atingir o clímax. E, na sua mente, tinha tido todas. Estrelas do cinema e da televisão; mulheres do escritório; colegiais; as modelos nuas que faziam beicinhos nas páginas amarrotadas da Fiesta; escravas sem rosto acorrentadas; garotos bronzeados com corpos iguais aos dos deuses gregos...
Noite após noite, elas desfilavam na sua frente.
Era mais seguro desse jeito.
Na sua mente.
E, depois disso, ele caía no sono, confortável e seguro num mundo que controlava, e dormia sem sonhar. Ou, pelo menos, nunca se lembrava dos sonhos de manhã.
Na manhã que começou, ele foi acordado pelo rádio ("Duzentos mortos e acredita-se que muitos outros estejam feridos; e agora passamos para o Jack com a previsão do tempo e as notícias do trânsito..."), arrastou-se para fora da cama e, trôpego, a bexiga doendo, foi ao banheiro.
Levantou o assento do vaso e urinou. Sentiu como se estivesse mijando agulhas.
Precisou urinar de novo depois do café da manhã — menos dolorosamente, já que o fluxo não estava tão forte — e três vezes mais antes do almoço.
Todas as vezes, doeu.
Disse a si mesmo que não poderia ser uma doença venérea. Isso era uma coisa que os outros pegavam, e algo (pensou sobre seu último encontro sexual, três anos antes) que se contrai de outra pessoa. Não se pode, na verdade, pegar de assentos de privada, pode? Isso era só brincadeira, não?
Simon Powers tinha vinte e seis anos e trabalhava num grande banco de Londres, na divisão de títulos. Tinha poucas amizades no trabalho. Seu único amigo de verdade, Nick Lawrence, um canadense solitário, tinha sido transferido recentemente para outra agência, e Simon sentou-se só na cantina dos empregados, fitando a paisagem em forma de Lego de Docklands, beliscando uma salada verde.
Alguém bateu-lhe no ombro.
— Simon, ouvi uma boa hoje. Quer ouvir?
Jim Jones era o palhaço do escritório, um jovem de cabelos escuros, intenso, que afirmava que tinha um bolso especial na sua cueca para guardar preservativos.
— Mm. Claro.
— Aqui vai. Quem não tem mão é...?
— Maneta?
— Quem não tem perna é...?
— Perneta.
Jim começou a rir antecipando o final.
— Quem não tem punho é...?
— Sei lá...
— Punheta, Simon. Pu-nhe-ta. Meu Deus, como você é devagar... Então, vendo um grupo de moças numa mesa distante, Jim ajeitou a gravata e foi até lá, levando consigo sua bandeja.
Ele pôde ouvir Jim contando sua piada às mulheres, dessa vez com gestos adicionais.
Todas entenderam a piada imediatamente.
Simon deixou sua salada na mesa e voltou ao trabalho.
Naquela noite, sentou-se na poltrona em seu apartamento, com a televisão desligada, e tentou lembrar o que sabia sobre doenças venéreas.
Havia a sífilis, que formava pústulas no rosto e que enlouqueceu os reis da Inglaterra; gonorréia — pingadeira — uma gosma verde e mais loucura; chato, pequenos piolhos que se aninhavam e que provocavam coceira (ele inspecionou seus pêlos pubianos com uma lente de aumento, mas nada se mexeu); aids, a praga dos anos oitenta, um apelo por agulhas limpas e hábitos sexuais mais seguros (mas o que poderia ser mais seguro do que uma punheta limpa num punhado de lenços de papel brancos e novos?); herpes, que tinha algo a ver com feridas frias (verificou seus lábios no espelho; pareciam bem), isso era tudo o que ele sabia.
E foi para a cama e agitou-se para dormir, sem ousar se masturbar.
Aquela noite sonhou com mulheres minúsculas de rostos vagos andando em filas intermináveis entre enormes blocos de escritório, como um exército de formigas guerreiras.
Simon não fez nada a respeito da dor por dois dias. Tinha esperança de que ela fosse embora, ou melhorasse por si só. Não melhorou. Piorou. Continuava por até uma hora após urinar; seu pênis parecia queimar por dentro.
E, no terceiro dia, ligou para o consultório do seu médico a fim de marcar uma hora. Temia ter de contar à mulher que atendeu ao telefone qual era o problema, mas ficou aliviado, e talvez um pouco desapontado, quando ela não perguntou e simplesmente marcou uma hora para o dia seguinte.
Ele disse à sua supervisora no banco que estava com dor de garganta e que precisaria, por isso, ir ao médico. Pôde sentir suas faces queimando enquanto dizia isso, mas ela não fez observação alguma a respeito, dizendo apenas que tudo bem.
Quando saiu do escritório da superiora, percebeu que estava tremendo.
Foi num dia cinza e molhado que chegou ao consultório. Não havia espera e ele foi direto ver o médico. Não o seu médico, Simon descobriu aliviado. Quem o atendeu foi um jovem paquistanês, mais ou menos da sua idade, que interrompeu sua recriação gaguejada dos sintomas para perguntar:
— O senhor está urinando mais do que de costume?
Simon balançou a cabeça afirmativamente.
— Alguma emissão de líquido?
Simon balançou a cabeça negativamente.
— Certo. Gostaria que baixasse suas calças, se não se importa.
Simon baixou-as. O médico espiou o seu pênis.
— O senhor realmente tem sim uma emissão de líquido, sabia? — disse ele.
Simon arrumou-se novamente.
— Agora, Sr. Powers, diga-me, acha possível que tenha pego de alguém uma... hã... doença venérea?
Simon balançou vigorosamente a cabeça.
— Não tenho feito sexo com ninguém — ele quase disse "ninguém mais" — por quase três anos.
— Não? — obviamente o médico não acreditava nele. Tinha cheiro de temperos exóticos e os dentes mais brancos que Simon já havia visto.
— Bom, o senhor contraiu ou uma gonorréia ou uma une. Provavelmente uma une: uretrite não-específica, que é menos famosa e menos dolorida do que a gonorréia, mas que pode ser um saco para tratar. Pode-se livrar da gonorréia com uma grande dose de antibióticos. Mata os patifes... — bateu suas mãos duas vezes. Alto. — Num piscar de olhos.
— Você não sabe, então?
— Qual das duas é? Meu Deus, não. Nem vou tentar descobrir. Estou mandando o senhor para uma clínica especial que cuida de todas essas coisas. Vou lhe dar um bilhete para levar. — Tirou um bloco de receituário com cabeçalho de uma gaveta.
— Qual é a sua profissão, Sr. Powers?
— Trabalho num banco.
— Um caixa?
— Não — meneou a cabeça. — Estou em títulos. Sou auxiliar de dois gerentes assistentes. — Ocorreu-lhe um pensamento. — Eles não precisam saber disso, precisam?
O médico pareceu chocado:
— Meu Deus, não.
Ele escreveu uma nota com uma caligrafia cuidadosa, redonda, afirmando que Simon Powers, idade vinte e seis, contraíra algo que provavelmente era une. Havia emissão de líquido. Disse, aparentando desconforto, que não tivera relacionamentos sexuais havia três anos. Eles poderiam, por favor, informá-lo dos resultados dos exames? Assinou com um rabisco. Então, deu a Simon um cartão com o endereço e o telefone da clínica especial.
— Aqui está. É aqui que o senhor deve ir. Não se preocupe. Acontece com muita gente. Vê todos os cartões que tenho aqui? Não se preocupe, logo vai estar novo em folha. Telefone para eles quando chegar em casa e marque uma consulta.
Simon pegou o cartão e se levantou para ir.
— Não se preocupe — disse o médico. — Não será difícil tratar.
Simon assentiu com a cabeça e tentou sorrir.
Abriu a porta para sair.
— E de maneira alguma é grave como sífilis — disse o médico.
As duas senhoras sentadas na sala de espera ergueram as cabeças prazerosamente por terem ouvido aquilo e fitaram Simon um tanto gulosas, enquanto o rapaz deixava a sala.
Ele queria morrer.
Na calçada, do lado de fora, esperando pelo ônibus para ir para casa, Simon pensou: eu tenho uma doença venérea. Eu tenho uma doença venérea. Eu tenho uma doença venévea. Sem parar, como um mantra.
Deveria tocar um sino, enquanto andava.
No ônibus, tentou não ficar perto demais dos outros passageiros. Estava certo de que sabiam (não podiam ler as marcas da praga no seu rosto?) e ao mesmo tempo envergonhado de ser forçado a manter isso em segredo.
Voltou para o apartamento e foi direto para o banheiro, esperando ver, no espelho, um rosto de filme de terror decompondo-se, um crânio apodrecendo esfiapado de bolor azul, fitando de volta. Em vez disso, viu um auxiliar de banco de bochechas rosadas, com vinte e poucos anos, de cabelos claros e pele perfeita.
Puxou desajeitadamente seu pênis para fora da calça e o examinou com cuidado. Não era nem de um verde gangrenoso nem de um branco leproso, parecendo perfeitamente normal, exceto pela ponta um pouco inchada e a emissão de líquido claro que lubrificava o buraco. Percebeu que sua cueca branca tinha sido manchada pelo líquido na virilha.
Simon ficou bravo consigo e mais bravo ainda com Deus por lhe ter dado uma (digamos) (dose da pingadeira) obviamente dirigida a alguém que não ele.
Masturbou-se aquela noite pela primeira vez em quatro dias.
Fantasiou uma colegial de calcinha de algodão azul que se transformou numa policial, então duas policiais e depois três.
Não doeu até chegar ao clímax; daí sentiu como se alguém estivesse enfiando uma navalha no seu pau. Como se estivesse ejaculando uma almofada de alfinetes.
Ele começou a gritar na escuridão — por dor ou por outra razão, menos fácil de se identificar, até mesmo Simon estava incerto.
Essa foi a última vez que se masturbou.
A clínica localizava-se em um austero hospital vitoriano na região central de Londres. Um jovem de avental branco olhou o cartão de Simon, pegou a nota do seu médico e lhe disse para sentar.
Simon sentou-se numa cadeira de plástico laranja, coberta de queimaduras marrons de cigarros.
Fitou o chão por alguns minutos. Então, tendo exaurido essa forma de entretenimento, fitou as paredes e, finalmente, não tendo outra opção, as outras pessoas.
Eram todos homens, graças a Deus — as mulheres estavam no andar de cima — e havia mais de uma dúzia deles.
Os que se sentiam mais confortáveis eram os do tipo macho, que estavam ali pela décima sétima ou septuagésima vez, parecendo satisfeitos com eles mesmos, como se o que quer que tivessem pego fosse prova da sua virilidade. Havia uns poucos cavalheiros urbanos de terno e gravata. Um deles parecia relaxado; tinha um telefone celular. Outro, escondido atrás do Daily Telegraph, corava, constrangido por estar lá; havia homenzinhos de bigodes finos e capas de chuva espalhafatosas — vendedores de jornal, talvez, ou professores aposen- tados; um cavalheiro malaio rotundo, que fumava cigarros sem filtro um atrás do outro, acendendo cada cigarro na bituca do anterior, assim a chama nunca se apagava, mas era transmitida de um cigarro que apagava ao outro. Em um canto, estava sentado um casal de gays assustados. Nenhum deles parecia ter mais de dezoito anos. Aquela era, obviamente, sua primeira consulta, pela maneira como ficavam olhando ao redor. Estavam de mãos dadas, nós dos dedos brancos, discretamente. Estavam apavorados.
Simon sentiu-se confortado. Sentiu-se menos só.
— Sr. Powers, por favor — disse o homem sentado à mesa. Simon levantou-se, consciente de que todos os olhos estavam sobre ele, que tinha sido identificado e chamado pelo nome na frente de todas essas pessoas. Um médico alegre, de cabelos vermelhos e avental branco estava à sua espera.
— Siga-me — disse ele.
Desceram alguns corredores, passaram por uma porta (onde estava escrito DR. J. BENHAM com caneta hidrocor numa folha de papel branco pregada com durex no vidro fosco) e entraram no consultório do médico.
— Eu sou o Dr. Benham — disse o médico. Não deu sua mão para cumprimentar. — Você tem um relatório do seu médico?
— Deixei com o homem da mesa.
— Ah. — O Dr. Benham abriu um arquivo na mesa à sua frente. Havia uma etiqueta impressa por computador ao lado. Dizia:
REG’D 2 JUL. 90 HOMEM. 90/00666.L
POWERS, SIMON, SR.
NASCIDO 12 OUT. 63. SOLTEIRO.
Benham leu a nota, olhou para o pênis de Simon e lhe deu uma folha de papel azul do arquivo. Tinha a mesma etiqueta colada no alto.
— Sente-se no corredor — disse-lhe. — Lima enfermeira vai chamá-lo. Simon esperou no corredor.
— São muito frágeis — disse o homem bronzeado sentado ao seu lado; um sul-africano, pelo sotaque, ou talvez do Zimbábue. Sotaque colonial, de qualquer forma.
— Desculpe?
— Muito frágeis. As doenças venéreas. Pense bem. Você pode pegar um resfriado ou uma gripe simplesmente por estar na mesma sala com alguém infectado. Doenças venéreas precisam de calor, umidade e contato íntimo.
Não a minha, pensou Simon, mas não disse nada.
— Sabe o que me apavora? — disse o sul-africano.
Simon fez que não com a cabeça.
— Contar para a minha esposa — disse o homem e calou-se.
Uma enfermeira veio e levou Simon consigo. Era jovem e bonita e ele a seguiu para dentro de um cubículo. Ela pegou o papel azul.
— Tire o seu casaco e enrole a manga direita.
— Meu casaco?
Ela suspirou.
— Para o exame de sangue.
— Ah.
O exame de sangue foi quase agradável em comparação ao que veio depois.
— Abaixe suas calças — disse-lhe ela com um sotaque australiano marcante. Seu pênis tinha encolhido, empurrado firmemente contra si mesmo, de encontro ao púbis; parecia cinza e enrugado, Ele se viu querendo dizer à enfermeira que, normalmente, era muito maior, mas, então, ela pegou um instrumento de metal com uma alça de arame na ponta e Simon desejou que seu membro fosse ainda menor.
— Aperte seu pênis na base e empurre para frente algumas vezes. — Assim fez ele. Ela enfiou a alça na cabeça do seu órgão sexual e torceu lá dentro. O rapaz estremeceu de dor. A enfermeira espalhou o liquido numa lâmina de vidro. Depois apontou para um frasco numa prateleira.
— Você pode urinar naquilo para mim, por favor?
— O quê? Daqui?
Ela franziu os lábios. Simon suspeitou que ela devia ouvir aquela piada trinta vezes por dia desde que começara a trabalhar ali.
Ela saiu do cubículo, deixando-o só para urinar.
Simon achava difícil urinar em banheiros públicos na maior parte das vezes, sempre tendo de esperar até que todas as pessoas saíssem. Invejava os homens que podiam entrar casualmente nos banheiros, abrir o zíper e conversar alegremente com seus vizinhos nos urinóis ao lado, enquanto jorrava urina amarela sobre a porcelana branca. Quase nunca conseguia fazer isso.
Não conseguiu fazer agora.
A enfermeira entrou de novo.
— Não teve sorte? Nada para se preocupar. Sente-se na sala de espera e o doutor vai chamá-lo num minuto,
— Bom — disse o Dr. Benham —, o senhor tem UNE. Uretrite não-específica.
Simon concordou com a cabeça e então disse:
— O que isso quer dizer?
— Quer dizer que não tem gonorréia, Sr. Powers.;
— Mas eu não faço sexo com, com ninguém, há....
— Ah, não há nada com que se preocupar. Pode ser uma doença bastante espontânea; o senhor não precisa, hã, entregar-se para pegá-la, — Benham abriu uma gaveta da mesa e retirou um frasco de comprimidos. — Tome um destes quatro vezes ao dia antes das refeições. Não beba álcool, não faça sexo e não beba leite por algumas horas depois de tomá-los. Entendeu?
Simon sorriu nervoso.
— Vejo o senhor semana que vem. Marque uma consulta no andar de baixo.
No andar de baixo, deram-lhe um cartão vermelho com seu nome e a hora da sua consulta. Também havia um número: 90/00666.L
Andando na chuva de volta para casa, Simon parou em frente a uma agência de viagens. O pôster na vitrine mostrava uma praia ensolarada com três mulheres bronzeadas de biquíni bebericando em copos longos.
Simon nunca tinha viajado para fora do país.
Lugares do exterior deixavam-no nervoso.
Com o passar do tempo, a dor se foi e, quatro dias mais tarde, Simon viu-se capaz de urinar sem vacilar
Entretanto, algo mais estava acontecendo.
Começou como uma semente minúscula que se enraizou na sua mente e cresceu.
Ele contou ao Dr. Benham na consulta seguinte.
Benham ficou confuso.
— Então, está dizendo que não sente mais o seu pênis como sendo seu, Sr. Powers?
— Isso mesmo, doutor.
— Receio que eu não esteja entendendo. É algum tipo de perda de sensação?
Simon podia sentir seu pênis dentro da calça, reconhecia a sensação do pano contra a carne. No escuro, começou a mexer.
— Nada disso. Eu posso sentir tudo como sempre. Só que sinto... bem, diferente, acho. Como se não fosse mais parte de mim. Como se... — Ele fez uma pausa. Como se pertencesse a uma outra pessoa.
O Doutor Benham balançou a cabeça.
— Respondendo sua pergunta, Sr. Powers, isso não é um sintoma de UNE — apesar de ser uma reação psicológica perfeitamente válida para alguém que contraiu a doença. Um, hã, sentimento de repulsa consigo mesmo, talvez, o qual o senhor esteja externando como uma rejeição à sua genitália.
Isso soa correto, pensou o Doutor Benham. Esperava ter usado os jargões apropriados. Nunca tinha prestado muita atenção nas aulas ou livros de psicologia, o que poderia explicar, assim afirmava sua esposa, por que tinha um emprego mixuruca numa clínica de doenças venéreas em Londres.
Simon parecia um pouco mais calmo.
— Eu estava só um pouco preocupado, doutor, isso é tudo. — Mordeu seu lábio inferior. — Mmm, o que exatamente é UNE?
Benham sorriu, tranqüilizadoramente.
— Pode ser qualquer uma entre várias coisas, UNE é apenas a nossa maneira de dizer que não sabemos exatamente do que se trata. Não é gonorréia. Não é clamídia. "Não-específico", veja bem. É uma infecção e responde a antibióticos. O que me lembra... — Ele abriu a gaveta da mesa e tirou um novo suprimento para a semana.
— Marque uma consulta para a próxima semana. Nada de sexo. Nada de álcool.
Nada de sexo? — pensou Simon. — Nada mesmo.
Mas, quando cruzou com a bela enfermeira australiana no corredor, sentiu seu pênis mexer-se de novo, ficar quente e endurecer.
Benham viu Simon na semana seguinte. Os exames mostravam que ele ainda estava com a doença. Benham deu de ombros.
— Não é incomum que a doença continue por tanto tempo. O senhor diz que não sente desconforto.
— Não, nenhum. E também não vi nenhuma emissão de líquido.
Benham estava cansado e uma dor imprecisa latejava por trás do seu olho esquerdo. Olhou os exames na pasta.
— Infelizmente, o senhor ainda tem a doença.
Simon Powers mudou de posição na cadeira. Tinha grandes olhos azuis lacrimejantes e um rosto pálido e infeliz.
— E sobre a outra coisa, doutor?
O médico balançou a cabeça.
— Que outra coisa?
— Eu lhe contei — disse Simon. — A semana passada. Eu lhe contei. A sensação de que o meu, hmm, pênis não era, não é mais meu pênis.
É claro, pensou Benham, é aquele paciente. Nunca havia jeito de ele se lembrar da procissão de nomes, rostos e pênis, com seus constrangimentos, suas fanfarronices, seus cheiros suarentos, nervosos e suas doencinhas tristes.
— Mm. O que tem isso?
— Está se espalhando, doutor. Sinto toda a parte inferior do meu corpo como se fosse de outra pessoa. Minhas pernas e tudo o mais. Posso sentir, sem problemas, e elas vão onde quero que vão, mas, às vezes, tenho a sensação de que se quisessem ir a um outro lugar — se quisessem cair no mundo — seriam capazes disso e me levariam junto. Eu nada poderia fazer para impedir.
Benham sacudiu a cabeça. Não tinha, de fato, escutado.
— Vamos mudar seu antibiótico. Se o anterior ainda não acabou com a doença, estou certo de que esse acabará. Provavelmente, também vai se livrar dessa outra sensação. Talvez seja apenas um efeito colateral do antibiótico.
O jovem apenas o fitou.
Benham sentiu que devia dizer alguma coisa mais.
— Quem sabe o senhor deva sair mais.
O jovem levantou-se.
— A mesma hora na semana que vem. Nada de sexo, nada de birita, nada de leite depois dos comprimidos. — O médico recitou sua litania.
O jovem retirou-se. Benham observou-o cuidadosamente, mas não pôde ver nada de estranho na maneira como ele andava.
Na noite de sábado, o Dr. Jeremy Benham e sua esposa, Célia, foram a um jantar oferecido por um colega de profissão. Benham sentou-se ao lado de um psiquiatra estrangeiro.
Começaram a falar, enquanto se serviam das entradas.
— O problema de contar às pessoas que você é psiquiatra — disse o psiquiatra, que era americano, enorme, com uma cabeça em forma de bala e parecia um marinheiro mercante — é que você tem de agüentar todas elas tentando agir de maneira normal pelo resto da noite. — Ele riu exultante, baixo e de um jeito sujo.
Benham também riu e, como estava sentado ao lado de um psiquiatra, passou o resto da noite tentando agir de maneira normal.
Bebeu muito vinho no jantar.
Depois do café, quando não conseguia pensar em mais nada para dizer, contou ao psiquiatra (cujo nome era Marshall, apesar de ter dito a Benham para chamá-lo de Mike) o que podia se lembrar dos delírios de Simon Powers.
Mike riu.
— Soa engraçado. Talvez um pouco fantasmagórico, mas nada com que se preocupar. Provavelmente apenas uma alucinação causada por uma reação aos antibióticos. Parece um pouco com a Síndrome de Capgras. Já ouviu falar sobre ela por aqui?
Benham assentiu com a cabeça, então pensou e disse "não". Serviu-se de mais uma taça de vinho, ignorando os lábios franzidos da sua esposa e o balançar quase imperceptível da sua cabeça.
— Bom, a Síndrome de Capgras — disse Mike — é um delírio apavorante. Houve um artigo inteiro sobre ela em The Journal of American Psychiatry, uns cinco anos atrás. Basicamente, é quando alguém acredita que as pessoas importantes na sua vida... membros da família, colegas de trabalho, pais, entes queridos, o que quer que seja... foram substituídos por... veja só!... duplicatas exatas. Não se aplica a todos que conhece. Apenas a pessoas selecionadas. Freqüentemente só uma pessoa. Não há outros delírios também. Apenas esse. Um transtorno agudo, com tendências paranóides.
O psiquiatra cutucou seu nariz com a unha do polegar.
— Eu mesmo topei com um caso desses dois, três anos atrás.
— E você conseguiu curar?
O psiquiatra deu uma olhada de canto de olho em Benham e sorriu um riso arreganhado, mostrando todos os dentes.
— Em psiquiatria, doutor, ao contrário, talvez, do mundo da clínica de doenças sexualmente transmissíveis, não há algo como cura. Há apenas ajustamento.
Benham bebericou o vinho tinto. Mais tarde ocorreu-lhe que nunca teria dito o que disse a seguir, não fosse pelo vinho. Não em voz alta, pelo menos.
— Suponho... — Fez uma pausa lembrando-se de um filme que tinha visto quando adolescente (alguma coisa sobre invasores de corpos?). Suponho que ninguém jamais checou se essas pessoas foram mesmo removidas e substituídas por réplicas exatas...?
Mike, Marshall ou quem quer que fosse, lançou um olhar muito engraçado para Benham e se virou na cadeira para conversar com o seu vizinho do outro lado.
Benham, por sua vez, continuou tentando agir de maneira normal (o que quer que fosse isso) e fracassou completamente. Ficou, de fato, muito bêbado e começou a resmungar sobre "colonos de merda" e teve uma briga flamejante com sua esposa depois que o jantar acabou, nenhuma dessas ocorrências foi particularmente normal.
A esposa de Benham trancou-o do lado de fora do quarto depois da briga.
Ele se deitou no sofá no andar de baixo, envolto por um cobertor amarrotado, e se masturbou na sua cueca, sua semente quente jorrando no seu abdome.
De madrugada, foi acordado por uma sensação fria ao redor dos quadris.
Limpou-se com a fralda da camisa e voltou a dormir.
Simon não conseguia se masturbar.
Ele queria, mas sua mão não se mexia. Estava ao seu lado, saudável, boa, mas era como se tivesse se esquecido de como fazê-la responder. O que era ridículo, não era?
Não era?
Começou a suar. Pingava do seu rosto e testa sobre os lençóis de algodão branco, mas o resto do seu corpo eslava seco.
Célula após célula, alguma coisa estava se espalhando dentro dele. Roçava seu rosto suavemente, como o beijo de uma amante; estava lambendo seu pescoço, respirando nas suas faces. Tocando-o.
Tinha de sair da cama. Não conseguia se levantar. Tentou gritar, mas sua boca não abriu. Sua laringe recusava-se a vibrar.
Simon ainda podia ver o teto, iluminado pelas luzes dos carros que passavam. A imagem ficou borrada: os olhos ainda eram seus e lágrimas saíam deles, correndo pelo rosto, encharcando o travesseiro.
Eles não sabem o que eu tenho, pensou. Disseram que eu tinha o que todo mundo tem. Mas eu não peguei isso. Peguei uma coisa diferente.
Ou talvez, pensou enquanto sua visão nublava-se e a escuridão engolia a última parte de Simon Powers, uma coisa tenha me pegado.
Logo depois disso, Simon levantou-se, lavou-se e inspecionou-se cuidadosamente na frente do espelho do banheiro. Então sorriu, como se estivesse gostando do que via.
Benham sorriu.
— Estou satisfeito em dizer — falou ele — que posso lhe dar um atestado de saúde perfeita.
Simon Powers esticou-se na cadeira, preguiçosamente, e assentiu com a cabeça.
— Eu me sinto muito bem — disse.
Ele realmente parecia bem, pensou Benham. Brilhando de saúde. Parecia mais alto também. Um jovem muito atraente, concluiu o médico.
— E, então, aquelas sensações acabaram?
— Sensações?
— Aquelas sensações sobre as quais o senhor me falou. Que o seu corpo não era mais seu.
Simon movimentou uma mão suavemente, abanando seu rosto. O tempo frio tinha se encerrado e Londres estava cozinhando numa repentina onda de calor. Não parecia mais a Inglaterra.
Simon parecia se divertir com a idéia.
— Todo este corpo pertence a mim, doutor. Eu estou certo disso. Simon Powers (90/00666.L SOLTEIRO.HOMEM) riu como se o mundo também lhe pertencesse.
O médico observou-o enquanto ele saía do consultório. Parecia mais forte agora, menos frágil.
O próximo paciente da agenda de Benham era um garoto de vinte e dois anos. Benham teria de lhe informar que era HIV positivo. Odeio este trabalho, pensou. Preciso de umas férias.
Desceu o corredor para chamar o menino e passou por Simon Powers que conversava animadamente com a bela enfermeira australiana.
— Deve ser um lugar adorável — estava lhe dizendo. — Quero conhecer. Quero ir a todos os lugares. Quero encontrar todo mundo. — Ele tinha uma das mãos no braço da moça e ela não fazia nenhum movimento para retirá-la.
O doutor Benham parou ao lado deles. Tocou Simon no ombro.
— Jovem — disse ele. — Não quero ver você de novo por aqui.
Simon Powers sorriu.
— O senhor não vai me ver aqui de novo, doutor — disse ele. — Não mesmo. Estou deixando o meu trabalho. Vou sair pelo mundo.
Apertaram-se as mãos. A de Powers estava quente, confortável e seca. Benham afastou-se, mas não pôde evitar de ouvir Simon Powers ainda conversando com a enfermeira,
— Vai ser muito legal — dizia-lhe. Benham se perguntou se estava falando de sexo, viagem pelo mundo ou, possivelmente, de uma forma ou outra, sobre as duas coisas.
— Vou me divertir muito — disse Simon. — Já estou adorando.
CAMUNDONGO
Eles tinham vários dispositivos que matavam o camundongo rapidamente, outros que o matavam mais lentamente. Havia dúzias de variações da ratoeira tradicional, uma que Regan imaginava como a ratoeira do Tom e Jerry: uma armadilha com mola de metal que era disparada a um toque, quebrando as costas do camundongo; havia outras engenhocas nas prateleiras — algumas que sufocavam o camundongo, outras que o eletrocutavam, ou até mesmo o afogavam, cada qual guardada em sua embalagem multicolorida de cartolina.
— Não são exatamente o que eu estava procurando — disse Regan.
— Bem, isso é tudo o que temos em termos de ratoeiras — disse a mulher, que usava um grande crachá plástico que dizia que seu nome era Becky e que ela adorava trabalhar PARA VOCÊ na loja de RAÇÃO E ESPECIALIDADES ANIMAIS MACREA.
— Mas ali... — ela apontou uma gôndola de exibição isolada de sachês de veneno para ratos gato-famyn-to. Havia um pequeno camundongo de borracha deitado no alto da gôndola com as pernas para o ar.
Regan experimentou um repentino lampejo de memória espontânea: Gwen estendendo uma elegante mão rosada, seus dedos voltados para cima:
— O que é aquilo? — perguntara ela. Foi na semana anterior da partida dele para os Estados Unidos.
— Não sei — respondera Regan. Estavam no bar de um pequeno hotel no West Country com tapetes cor de Burgundy, papéis de parede castanho-claros. Ele acalentava uma gin-tônica; ela bebericava sua segunda taça de Chablis. Uma vez, Gwen tinha dito a Regan que as loiras deviam beber apenas vinho branco; combinava mais. Ele riu, até perceber que ela falava sério.
— É um daqueles, morto — disse ela virando sua mão, e os dedos ficaram pendurados como as pernas de um pequeno animal rosa. Ele sorriu. Mais tarde, pagou a conta e os dois subiram ao quarto de Regan...
— Não, veneno não. Olha, eu não quero matar — disse à vendedora, Becky.
Ela o olhou com curiosidade, como se ele tivesse começado a falar numa língua estrangeira.
— Mas você disse que queria ratoeiras...?
— O que eu quero é uma ratoeira humanitária. É tipo um corredor. O camundongo entra, a porta se fecha atrás e ele não pode sair.
— Mas aí como você mata?
— Não mato. Eu pego o carro e guio por alguns quilômetros e solto o camundongo. E ele não volta para me incomodar.
Becky sorria, agora, examinando-o como se fosse a criatura mais querida, a mais doce, tola e bela criaturinha.
— Fique aqui — disse ela. — Vou ver lá trás.
Passou por uma porta em que se lia APENAS EMPREGADOS. Ela tinha uma bela bunda e era atraente, de um jeito lânguido do meio-oeste americano.
Ele olhou pela janela. Janice estava no carro, lendo sua revista: uma ruiva num roupão desmazelado. Acenou-lhe, mas ela não estava olhando para ele.
Becky colocou sua cabeça na porta:
— Bingo! — disse ela. — Quantas você quer?
— Duas?
— Sem problema. Entrou de novo e voltou com dois pequenos recipientes plásticos verdes. Ela marcou a venda na caixa registradora e, enquanto ele manuseava desajeitadamente notas e moedas, ainda sem familiaridade, tentando pegar o troco certo, a jovem examinou as ratoeiras, sorrindo, revirando os pacotes nas mãos.
— Meu Deus — disse ela —, o que vão inventar depois?
O calor golpeou Regan quando ele saiu da loja.
Apressou-se até o carro. O trinco de metal da porta estava quente; o motor funcionava em marcha lenta. Entrou no carro.
— Comprei duas — disse ele. O ar condicionado no carro estava fresco e agradável.
— Cinto de segurança — lembrou Janice. — Você tem mesmo de aprender a dirigir por aqui.
Ela abaixou sua revista.
— Eu aprendo — disse ele —, um dia.
Regan tinha medo de guiar nos Estados Unidos: era como se estivesse dirigindo do outro lado do espelho.
Não disseram mais nada, e Regan leu as instruções nas costas das caixas de ratoeira. De acordo com o texto, a principal atração desse tipo de ratoeira era que você não precisava ver, tocar ou manusear o camundongo. A porta se fechava atrás dele e isso era tudo. As instruções não diziam nada sobre não matar o camundongo.
Quando chegaram em casa, ele tirou as ratoeiras de dentro das caixas, colocou um pouco de creme de amendoim no fundo de uma delas, e um pedaço de chocolate no da outra e as colocou no chão da copa, uma contra a parede, a outra perto do buraco que o camundongo parecia estar usando como acesso à copa.
As ratoeiras eram apenas corredores — uma porta em uma extremidade, uma parede na outra.
Na cama, aquela noite, Regan estendeu a mão e tocou os seios de Janice enquanto ela dormia, tocou-os suavemente, sem querer acordá-la. Estavam perceptivelmente maiores. Desejou achar seios grandes eróticos. Viu-se perguntando a si mesmo como seria sugar os seios de uma mulher enquanto ela estivesse amamentando. Pôde imaginar a doçura, mas nenhum gosto específico.
Janice dormia profundamente. Mesmo assim, moveu-se em sua direção. Ele se afastou vagarosamente; deitado na escuridão, tentando se lembrar de como fazer para dormir, caçando alternativas na sua mente. Estava tão quente, tão abafado. Quando moravam em Ealing, ele adormecia instantaneamente, estava certo disso.
Um grito agudo veio do jardim. Janice mexeu-se e rolou para longe dele. Tinha soado quase humano. As raposas podem parecer crianças pequenas sentindo dor — Regan tinha ouvido isso há muito tempo. Ou talvez fosse um gato. Ou algum tipo de pássaro noturno.
De qualquer maneira, alguma coisa tinha morrido na noite. Não havia dúvida.
Na manhã seguinte, uma das ratoeiras tinha sido acionada, muito embora, quando Regan abriu-a cuidadosamente, ela se mostrou vazia. A isca de chocolate tinha sido mordiscada. Ele abriu a porta da ratoeira uma vez mais e a substituiu, próxima da parede.
Janice estava chorando na saleta. Regan ficou ao seu lado, ela estendeu sua mão e ele a segurou firmemente. Seus dedos estavam gelados. Ela ainda vestia a camisola e estava sem maquiagem.
Mais tarde, ela deu um telefonema.
Um pacote chegou para Regan um pouco antes do meio-dia, pela Federal Express, contendo um dúzia de disquetes, cada um recheado de números para ele inspecionar, arranjar e classificar.
Ele trabalhou no computador até às seis, sentado na frente de um pequeno ventilador de metal que zumbia, chocalhava e movia o ar quente ao redor.
Ela ligou o rádio naquela noite, enquanto ele cozinhava.
— ... o que meu livro diz a todos. O que os liberais não querem que saibamos. — A voz era alta, nervosa, arrogante.
— É. Tinha alguma coisa em que, bem, era meio difícil acreditar. — O locutor era encorajador: uma voz profunda de rádio, tranqüilizadora e fácil nos ouvidos.
— É claro que é difícil acreditar. Vai contra tudo aquilo em que eles querem que você acredite. Os liberais e os ho-mos-se-xuais, na mídia, não deixam você saber a verdade.
— Bom, todos sabemos disso, amigo. Voltamos já, já, depois dessa canção.
Era uma música country. Regan mantinha o rádio sintonizado na estação National Public Radio local. Às vezes, transmitiam o serviço de notícias internacionais da BBC. Alguém deve ter mudado a sintonia, achou ele, apesar de não conseguir imaginar quem.
Ele pegou uma faca afiada e cortou o peito de frango com cuidado, dividindo a carne rosada, fatiando-a em tiras prontas para serem fritas, ouvindo a música.
O coração de alguém estava partido; alguém não ligava mais. A canção acabou, Houve um comercial de cerveja. Então, o homem começou a falar de novo.
— Acontece que ninguém acredita nisso na primeira vez. Mas eu tenho os documentos. Eu tenho as fotografias. Leia meu livro. Você vai ver. É uma aliança pecaminosa, e quero realmente dizer pecaminosa, entre o chamado lobby pró-aborto, a comunidade médica e os ho-mos-se-xuais. Os ho-mos precisam desses assassinatos porque é daí que eles conseguem as criancinhas que usam nas experiências para encontrar a cura da AIDS. O que quero dizer é que esses liberais falam das atrocidades dos nazistas, mas nada do que os nazistas fizeram chega, sequer, perto do que estão fazendo, neste exato momento, enquanto falamos. Eles pegam esses fetos humanos e enxertam pedaços em camundongos para criar umas criaturas híbridas de humanos e ratos para suas experiências. Então, eles injetam AIDS nos monstrinhos...
Regan viu-se pensando na parede de Mengele com olhos enfileirados. Olhos azuis, olhos verdes, castanho-esverdeados...
— Merda! — ele cortou o dedo. Enfiou-o na boca, mordeu-o para estancar o sangue, correu até o banheiro e começou a caçar um Band-Aid.
— Lembre-se, amanhã, precisarei sair de casa às dez.
Janice estava de pé atrás dele. Regan fitou seus olhos azuis no espelho do banheiro. Ela parecia calma.
— Tudo bem. — Ele grudou o Band-Aid no dedo, escondendo e atando o corte, e virou-se para encará-la.
— Vi um gato no jardim, hoje — disse ela. — Grande, cinza. Talvez esteja perdido.
— Talvez.
— Já pensou de novo sobre ter um animal de estimação?
— Não de verdade. Seria só uma coisa a mais com que se preocupar. Pensei que já estava combinado: nada de animais de estimação.
Ela deu de ombros.
Eles voltaram para a cozinha. Ele despejou óleo na frigideira e acendeu o gás. Colocou as tiras de carne rosada na panela e as observou encolher, descorar e mudar.
Janice dirigiu até a estação de ônibus bem cedo, na manhã seguinte. Era um longo caminho até a cidade e ela não estaria em condições de guiar quando estivesse pronta para voltar. Levou quinhentos dólares com ela, em dinheiro.
Regan verificou as ratoeiras. Nenhuma delas tinha sido tocada. Então, rondou os corredores da casa.
Finalmente, telefonou para Gwen. A primeira vez, discou errado, seus dedos escorregando nos botões do telefone, os muitos dígitos confundindo-o. Tentou de novo.
O tom de chamada e, então, a voz dela na linha:
— Associação de Contabilidade Aliada, Boa tarde.
— Gwennie? Sou eu.
— Regan? É você, não é? Eu estava esperando mesmo que telefonasse. Senti sua falta. — A voz dela estava distante. Os estalos e zumbidos transatlânticos tornando-a mais distante.
— É claro.
— Você tem pensado em voltar?
— Não sei.
— E como está a esposa?
— Janice está... — Ele fez uma pausa. Suspirou. — Janice está bem.
— Comecei a trepar com o nosso novo diretor de vendas — disse Gwen. — Não é do seu tempo. Você não conhece. Faz seis meses que você foi embora. Quer dizer, o que uma garota pode fazer?
Ocorreu a Regan que isso era o que ele mais odiava nas mulheres: a praticidade. Gwen sempre o fizera usar preservativo, apesar de ele não apreciar a idéia, enquanto ela também usava diafragma e creme espermicida. Regan sentia que, em algum lugar no meio disso tudo, um nível de espontaneidade, de romance e de paixão havia se perdido. Ele queria que sexo fosse algo que simplesmente acontecesse, metade na sua cabeça, metade fora dela. Algo repentino, sujo e poderoso.
Sua testa começou a latejar.
— E então, como está o tempo aí? — perguntou Gwen calorosamente.
— Está quente — disse Regan,
— Queria que aqui também estivesse quente. Está chovendo há semanas.
Ele disse algo sobre como tinha sido bom ouvir a voz dela de novo. Então, desligou.
Regan checou as ratoeiras. Ainda vazias. Vagueou até o escritório e ligou a TV.
— ...este é um pequenino. É o que feto quer dizer. E, um dia, ele vai crescer e se tornar grande. Tem dedinhos, pezinhos — tem até mesmo unhinhas.
Uma imagem na tela: vermelha, pulsante e indistinta. Cortou e entrou uma mulher com um sorriso enorme, acariciando um bebê.
— Alguns dos pequeninos crescerão para se tornar enfermeiras, professores ou músicos. Um dia, um deles poderá até mesmo ser Presidente.
De volta à coisa rosada, preenchendo a tela.
— Mas este pequenino nunca será grande. Ele será morto amanhã. E sua mãe diz que não é assassinato.
Ele mudou de canal até achar I Love Lucy, o fundo perfeito para o nada. Então, ligou o computador e começou a trabalhar.
Depois de duas horas despendidas atrás de um erro de menos de cem dólares por colunas de números que pareciam intermináveis, sua cabeça começou a doer. Levantou-se e andou até o jardim.
Sentia falta de ter um jardim de verdade. Sentia falta dos gramados genuinamente ingleses com grama genuinamente inglesa. A grama ali era seca, marrom e esparsa, as árvores barbadas com musgo espanhol lembrando alguma coisa de filme de ficção científica, ele seguiu um caminho que dava num bosque atrás da casa. Uma coisa cinza e macia escorregou detrás de uma árvore para outra.
— Aqui, gatinho, gatinho — chamou Regan. — Aqui, bichano, bichano.
Caminhou até a árvore e olhou atrás dela. O gato — ou o que quer que fosse — tinha ido embora.
Algo ferroou sua bochecha. Ele bateu nela sem pensar, baixou sua mão e a viu manchada de sangue e um mosquito, meio esmagado, ainda se contorcendo na palma.
Voltou à cozinha e se serviu de uma xícara de café. Sentia falta de chá, mas não tinha o mesmo gosto aqui.
Janice chegou em casa por volta das seis.
— Como foi?
Ela deu de ombros.
— Tudo bem.
— É?
— É.
— Tenho de voltar na semana que vem — disse ela. — Para um exame.
— Para ter certeza de que não deixaram nenhum instrumento dentro de você?
— Vai saber — respondeu.
— Fiz espaguete à bolonhesa — disse Regan.
— Não estou com fome — justificou Janice. — Vou para a cama.
Ela subiu a escada.
Regan trabalhou até que os números deixaram de fazer sentido. Subiu a escada e entrou no quarto escuro sem fazer barulho. Tirou as roupas ao luar, largou-as no tapete e escorregou para dentro dos lençóis.
Podia sentir Janice próxima dele. Seu corpo tremia e o travesseiro estava molhado.
— Jan?
Ela estava de costas para ele.
— Foi horrível — sussurrou ela no travesseiro. — Doeu tanto. E não me deram o anestésico apropriado ou coisa que o valha. Disseram que eu poderia tomar um Valium se quisesse, mas que não tem mais anestesista lá. A moça disse que ela não agüentou a pressão. De qualquer forma, custava mais duzentos dólares, e ninguém queria pagar...
— Doeu tanto — ela estava soluçando agora, dizendo as palavras de forma entrecortada, como se estivessem sendo arrastadas para fora. — Doeu tanto.
Regan levantou-se da cama.
— Aonde você vai?
— Eu não tenho de ouvir isso — disse Regan. — Não tenho mesmo.
Estava quente demais na casa. Regan desceu a escada só de cueca. Foi até a cozinha, descalço, seus pés faziam barulhos grudentos no vinil.
Uma das portas da ratoeira estava fechada.
Ele pegou a ratoeira. Sentiu-a insignificantemente mais pesada do que antes. Abriu a porta com cuidado, só um pouco. Dois olhos com aparência de contas o fitavam. Pêlo marrom claro. Fechou a porta de novo e ouviu barulho de unhas arranhando vindo de dentro da ratoeira.
E agora?
Ele não podia matá-lo. Não podia matar coisa alguma.
A ratoeira verde tinha um cheiro acre e seu fundo estava pegajoso com o mijo do camundongo. Regan levou-a cautelosamente para fora, para o jardim.
Uma brisa suave começou a soprar. A lua estava quase cheia. Ele se ajoelhou no chão e colocou a ratoeira cuidadosamente na grama seca. Abriu a porta do pequeno corredor verde.
— Fuja — sussurrou ele, sentindo-se constrangido ao ouvir o som da sua voz ao ar livre. — Fuja, ratinho.
O camundongo não se moveu. Regan pôde ver seu nariz na porta da ratoeira.
— Vamos — disse Regan. Luar brilhante, ele podia ver tudo, iluminado e sombreado de modo penetrante, mesmo não havendo cor.
Ele cutucou a ratoeira com o pé.
O camundongo arremeteu, então. Correu para fora da ratoeira, daí parou, virou e começou a pular para o bosque. Então, parou de novo. O roedor olhou na direção de seu libertador. Regan estava convencido de que ele o fitava. Tinha minúsculas mãozinhas cor-de-rosa. Regan sentiu-se quase paternal. Sorriu com tristeza.
Um risco cinza na noite e o camundongo estava pendendo, lutando inutilmente, da boca de um grande gato cinza, seus olhos ardendo verdes na noite. Então, o gato saltou para a macega.
Ele pensou brevemente em perseguir o felino, em libertar o camundongo das suas mandíbulas...
Um grito agudo veio do bosque; somente um som noturno, mas, por um momento, Regan pensou que fosse quase humano, como uma mulher sofrendo dores.
Ele jogou a pequena ratoeira de plástico para tão longe quanto possível. Esperava ouvir o ruído da peça se quebrando quando batesse em alguma coisa, mas caiu nos arbustos sem som algum.
Então, Regan entrou novamente e fechou a porta da casa atrás de si.
CHUN / DIFICULDADE INICIAL
O nome do hexagrama, Chun, representa propriamente um talo de grama que, no seu esforço de crescimento, encontra um obstáculo. Disso resulta o significado de Dificuldade Inicial. O hexagrama indica a maneira como o céu E a terra dão origem aos seres individuais. Esse primeiro encontro entre o céu e a terra é cercado por dificuldades. O trigrama inferior Chen é o Incitar, seu movimento tende para o alto, sua imagem é o trovão. O trigrama superior Iwn é o Abismai, o perigoso; seu movimento Tende para baixo, sua imagem ê a chuva. A situação é, portanto, de um denso caos. A atmosfera está carregada de trovão e chuva. Porém, o caos se dissolve. Enquanto o Abismai desce, o movimento que tende para o alto ultrapassa o perigo. A tempestade traz alívio de tensão e todos os seres respiram aliviados.
JULGAMENTO
DIFICULDADE INICIAL traz sublime sucesso
favorecendo através da perseverança.
Nada deve ser empreendido.
É favorável designar ajudantes.
Tempos de crescimento implicam em dificuldades Assemelham-se a um primeiro nascimento. Mas essas dificuldades surgem da profusão de seres que lutam por adquirir forma. Tudo está em movimento; assim, com perseverança, hã perspectivas de grande sucesso, apesar do perigo. Quando tais épocas aparecem no destino do homem, tudo encontra-se ainda informe e obscuro. Portanto, é preciso esperar, pois qualquer movimento prematuro poderia ocasionar infortúnio. É lambem de grande importância não permanecer sozinho. Devem-se convocar ajudantes, para com eles superar o caos. Isso não significa que se devam contemplar passivamente os acontecimentos. E necessário cooperar e participar, encorajando e orientando.
IMAGEM
Nuvens e trovão: a imagem da DIFICULDADE INICIAL.
Assim, o homem superior atua desembaraçando e pondo em ordem.
As nuvens e o trovão são representados por linhas ornamentais definidas, isto ê, a ordem já está implícita dentro do caos da Dificuldade Inicial. Assim também o homem superior deve, nesses momentos iniciais, estruturar e ordenar o vasto caos reinante, da mesma fôrma com que se desembaraçam os fios de seda emarariliados, juntando-os em meadas Para que cada um encontre o seu lugar entre a infinidade dos seres é necessário tanto separar quanto unir.
LINHAS
O Nove na primeira posição significa:
Hesitação e obstáculo.
É favorável permanecer perseverante.
É favorável designar ajudantes.
Se alguém encontra obstáculos ao início de um empreendimento, não deve forçar o avanço c sim deter-se para refletir. Entretanto nãu deve se deixar desviar, mantendo a constância e a perseverança de modo a não perder de vista sua meta. É importante procurar o auxílio certo. Só o encontrará evitando a arrogância e associ-ando-se a seus semelhantes com espírito de humildade. Desse modo atrairá aqueles que o ajudarão a enfrentai as dificuldades.
Seis na segunda posição significa:
As dificuldades se acumulam.
O cavalo e a carroça se separam.
Ele não é um malfeitor.
Deseja cortejar no momento oportuno.
A jovem é casta, não se compromete.
Dez anos e então ela se compromete.
Alguém está diante de dificuldades e obstáculos. Repentinamente há uma mudança, como se alguém chegasse com cavalo e carroça, e os desatrelasse. Isso ocorre tão inesperadamente que desconfia-se ser o recém-chegado um malfeitor. Pouco a pouco se verifica que ele não tem más intenções, mas procura estabelecer amizade e oferecer ajuda. Mas o oferecimento não deve ser aceito, pois não procede da fonte certa. Deve-se esperar, até que o prazo se cumpra; dez anos formam um ciclo completo de tempo. As condições normais retornam para si próprias, e então podemos nos unir ao amigo que nos está destinado.
Usando a imagem de uma noiva que permanece fiel a seu amado em meio a graves conflitos, o hexagrama dá um conselho para essa condição excepcional. Quando, em épocas de dificuldades, um obstáculo é encontrado e um alívio inesperado é oferecido por uma fonte estranha, deve-se proceder com cautela, evitando assumir compromissos decorrentes de tal ajuda. Em caso contrário, a liberdade de decisão seria tolhida. Caso se aguarde o momento adequado, tudo se tranqüilizará e o que se almejava será alcançado[3].
Seis na terceira posição significa:
Quem caça o veado sem o guarda-floiestal
só podeiá se perder na floresta.
O homem superior compreende os sinais do tempo
e prefere desistir.
Continuar traz humilhação.
Se um homem quer caçar sem guia numa floresta desconhecida, se perderá. Hão se deve tentar escapar das dificuldades de maneira irrefletida c sem orientação O destino não se deixa enganar. Um esforço prematuro, sem a necessária orientação, conduz ao fracasso e ao infortúnio. Assim, o homem superior, identificando as sementes do que está para acontecer, prefere renunciar a um desejo do que provocar o fracasso e o infortúnio, tentando consegui-lo pela força.
Seis na quarta posição significa:
O cavalo e a carroça se separam.
Busque união.
Ir adiante traz boa fortuna.
Tudo atua de modo favorável.
Alguém se encontra numa situação na quai o dever impõe agir, mas não dispõe de força suficiente. Surge uma oportunidade para se fazer contatos. Deve-se aproveitá-la. Um homem não deve permitir que uma falsa reserva ou um falso orgulho o detenha. É sinal de clareza interior dar o primeiro passo, mesmo quando isso envolve um certo grau de abnegação. Não é vergonhoso aceitar ajuda numa situação difícil. Caso se encontre o ajudante certo, tudo irá bem.
O Nove na quinta posição significa:
Dificuldades em abençoar.
Uma pequena perseverança trai boa fortuna.
A grande perseverança traz infortúnio.
Alguém se encontra numa situação na qual é impossível exprimir suas boas intenções de modo a que tomem forma, e sejam compreendidas. Outras pessoas interpõem-se e deformam tudo o que se fez. É preciso então ser cauteloso e proceder por etapas. Não se deve forçar a realização de algo grandioso, pois o sucesso só é possível quando já se dispõe da confiança geral. Somente o trabalho realizado em silêncio, com lealdade e consciência, poderá, pouco a pouco, levar a situação a se esclarecer e os obstáculos a desaparecerem.
Seis na sexta posição significa:
O cavalo e a carroça separam-se.
Derramam-se lágrimas de sangue.
As dificuldades iniciais são pesadas demais para algumas pessoas. Elas ficam presas e já não encontram mais a saída. Cruzam os braços e renunciam à luta. Uma tal resignação é o que há de mais triste. Por isso Confúcio faz a seguinte observação a respeito dessa linha: "Derramam-se lágrimas de sangue: não se deve persistir numa tal atitude[4]".
QUANDO FOMOS VER O FIM DO MUNDO
O que eu fiz no feriado dos fundadores foi: meu pai disse que a gente ia fazer um piquenique e a mamãe disse onde e eu disse que queria ir a Ponydale, andar de pônei, mas o papai disse que a gente ia ao fim do mundo e a mamãe disse ai meu Deus e meu pai disse, Tanya é hora das crianças verem o que era o quê e a mamãe disse não, não, ela só quis dizer que achava que Jardim de Luz Johnsons Peculiar era bonito nessa época do ano.
A mamãe adora o Jardim de Luz Johnsons Peculiar, que fica em Lux, entre a décima segunda rua e o rio, e eu gosto também, principalmente quando dão palitos de batata pra gente e a gente alimenta as pequenas tâmias brancas que vêm até a mesa de piquenique.
Esta é a palavra para as pequenas tâmias brancas: albino.
Dolorita Hunsickle diz que as tâmias contam o seu futuro se você pegar os bichinhos, mas eu nunca fiz isso. Ela disse que uma tâmia contou pra ela que ela vai crescer e virar uma bailarina famosa e que ela vai morrer de tuberculose, sem ser amada, numa pensão em Praga.
Então, meu pai fez salada de batata.
A receita é esta aqui.
A salada de batata do meu pai é feita com batatinhas novas, que ele cozinha, daí enquanto elas tão quentes ele bota uma mistura secreta nelas que é maionese e creme azedo e umas coisinhas chamadas cebolinhas que ele lambuza em gordura de bacon e pedacinhos de bacon crocante. Quando esfria é a melhor salada de batata do mundo e melhor do que a salada de batata que a gente come na escola que tem gosto de alguma coisa estragada e branca.
A gente parou na loja e comprou frutas e Coca-Cola e palitos de batata e a gente botou tudo numa caixa e a caixa foi atrás no carro e a gente foi no carro e mamãe e papai e minha irmãzinha, Vamos Nessa!
Onde está a nossa casa é de manhã, quando a gente sai, e chegou na auto-estrada e passou na ponte sobre Twilight e logo ficou escuro. Eu adoro viajar quando está escuro.
Eu sento no banco de trás e fico toda espremida cantando músicas que fazem lá lá lá lá na minha cabeça, então papai fala Dawnie querida pare de fazer esse barulho, mas eu continuo cantando lá lá lá.
Lá lá lá.
A auto-estrada estava fechada pra ser arrumada, então a gente seguiu as placas e isso é o que elas diziam: DESVIO.
Mamãe fez papai trancar sua porta enquanto a gente viajava e ela me fez trancar a minha porta também.
Ficou mais escuro enquanto a gente seguia.
Isso é o que eu vi pela janela enquanto a gente passava pelo centro da cidade: vi um homem barbudo que correu quando a gente parou e jogou uma roupa manchada sobre as janelas do carro.
Ele piscou pra mim pela janela de trás do carro com os olhos velhos dele.
Então ele não tava mais lá e mamãe e papai brigaram sobre quem ele era e se ele dava sorte ou azar. Mas não foi uma briga feia.
Tinha mais placas escrito DESVIO e elas eram amarelas.
Eu vi uma rua onde o homem mais bonito que eu já vi mandou beijo pra gente e cantou canções e uma rua onde eu vi uma mulher com a mão no rosto debaixo de uma luz azul mas o rosto dela tava molhado e sangrando e uma rua onde só tinha gatos que ficavam encarando a gente.
Minha irmã ficou dizendo ó ó que quer dizer olha e ela falou gatinho.
O nome do bebê é Melicent mas eu chamo ela de Daisydaisy. É o meu nome secreto pra ela. É de uma canção chamada Daisydaisy que é assim Daidydaisy me de sua resposta estou meio louco de amor por você não vai ser um casamento elegante eu não posso pagar uma carruagem mas você vai parecer doce numa bicicleta pra dois.
Daí, a gente saiu da cidade e entrou nas montanhas.
Daí, tinha casas que pareciam palácios dos dois lados da estrada, mas longe dela.
Meu pai nasceu numa dessas casas e ele e mamãe começaram a discutir sobre dinheiro e ele disse o que jogou fora para ficar com ela e ela disse ah então você vai começar de novo, não vai?
Eu olhei pras casas. Eu perguntei pro papai em qual delas a vovó morava. Ele disse que não sabia, mas ele estava mentindo. Eu não sei por que os adultos contam tanta lorota, como quando eles dizem que eu te conto mais tarde, ou a gente vê quando eles querem dizer não, ou eu não vou te dizer nem mesmo quando você for mais velha.
Numa casa tinha pessoas dançando no jardim. Daí, a estrada começou a ficar curva e o papai tava levando a gente pro campo na escuridão.
Olha! disse a mamãe. Um veado branco cruzou a estrada correndo com pessoas atrás dele. Meu pai disse que esses bichos eram uma praga e que eram uma peste e eram que nem ratos com chifres e que a pior coisa de atropelar um veado é quando eles passam pelo vidro e caem dentro do carro e ele disse que tinha um amigo que morreu quando um veado entrou pelo vidro com os cascos afiados.
E a mamãe disse ai meu Deus como se a gente precisasse saber disso e papai disse bom aconteceu com Tanya e a mamãe disse sinceramente você é incorrigível.
Eu queria perguntar quem eram as pessoas que perseguiam o veado, mas, ao invés disso, comecei a cantar lá lá lá lá lá lá.
O papai disse pára com isso. A mamãe disse pelo amor de deus deixa a menina se expressar e meu pai disse aposto que você gosta de mastigar chapa de zinco e a mamãe disse o que isso quer dizer e papai não disse nada e eu disse a gente ainda não chegou?
Havia fogueiras ao lado da estrada e, algumas vezes, pilhas de ossos. A gente parou de um lado da colina. O fim do mundo era do outro lado da colina, disse o papai.
Deu vontade de saber como era o fim do mundo. A gente estacionou o carro no estacionamento. A gente saiu. A mamãe levou Daisy no colo. O papai levou a cesta de piquenique. A gente andou pela colina na luz das velas que tinham colocado pelo caminho. Um unicórnio chegou perto de mim na trilha. Era branco como a neve e me fez carinho com a boca.
Perguntei ao papai se eu podia dar uma maçã pro unicórnio e o papai disse que provavelmente ele tinha pulgas e a mamãe disse que não tinha. O tempo todo sua cauda ficava chicoteando chicoteando chicoteando.
Eu dei minha maçã ele olhou pra mim com os grandes olhos prateados dele e então bufou assim hrrrmf e correu pela colina.
Daisy nenê disse ó ó.
Assim é como o fim do mundo é, o melhor lugar do mundo.
Tem um buraco no chão, que se parece com um buracão muito largo de onde sai gente bonita segurando varas e cimitarras de fogo. Elas têm cabelos dourados e compridos. Elas se parecem com princesas, só que mais ferozes. Algumas têm asas e outras não.
E tem um buraco grande no céu também de onde coisas ficam descendo, como o homem-com-cabeça-de-gato e cobras feitas de um negócio que parece com uma gelatina brilhante que eu pus no cabelo no Halloween e eu vi uma coisa que parecia uma velha e grande mosca zumbindo, descendo do céu. Tinha muitas delas. Tantas quanto tinha estrelas.
Elas não se mexem. Só ficam lá paradas sem fazer nada. Eu perguntei ao papai por que não tavam se mexendo e ele disse que elas tavam se mexendo só que muito muito devagar mas eu acho que não.
A gente se sentou numa mesa de piquenique.
Papai disse que a melhor coisa no fim do mundo é que não tem nem vespa nem mosquito. E mamãe disse que também não tinha um montão de vespas no jardim de Luz do Johnson Peculiar. Eu disse que não tinha um montão de vespas ou mosquitos no Ponydale e que também tinha pôneis que a gente podia andar e meu pai disse que ele tinha trazido a gente aqui pra gente se divertir.
Eu disse que queria dar uma andada pra ver se conseguia ver o unicórnio de novo e a mamãe e o papai disseram não vá muito longe.
Na mesa ao lado da nossa tinha pessoas usando máscaras. Eu fui lá com Daisydaisy pra ver elas.
Elas cantavam Parabéns a você pra uma moça grande e gorda sem roupas e com um chapelão engraçado. Ela tinha um monte de seios descendo até a barriga. Eu esperei pra ver ela soprar as velas do bolo mas não tinha bolo.
Você não vai fazer um pedido? perguntei.
Ela disse que não podia fazer mais pedidos. Era velha demais. Eu disse pra ela que no último aniversário quando eu soprei e apaguei todas as velas eu tinha pensado no meu pedido por muito tempo e eu ia pedir que a mamãe e o papai não brigassem mais de noite. Mas no fim eu pedi um pônei shetland mas ele nunca chegou.
GOSTOS
Ele tinha uma tatuagem no braço, um pequeno coração, feito em azul e vermelho. Abaixo, havia um retalho de pele rosada, de onde um nome havia sido apagado.
Ele lambia o bico do seio esquerdo dela, lentamente. Sua mão direita a afagava na nuca.
— O que há de errado? — perguntou ela. Ele olhou para cima.
— Como assim?
— Parece que você está... sei lá, em algum outro lugar — disse ela. — Ah... isso é bom. Isso é mesmo bom.
Estavam num quarto de hotel. Era o quarto da moça. Ele sabia quem ela era, reconhecera-a, mas tinha sido avisado para não usar o nome dela.
Moveu a cabeça para cima, fitou-a nos olhos e baixou a mão até seus seios. Estavam ambos nus da cintura para cima. Ela usava uma saia de seda, ele vestia jeans.
— Bem? — disse ela.
Ele pôs sua boca contra a dela. Seus lábios se tocaram. A língua dela serpenteava na dele. Ela suspirou, e se afastou.
— O que foi? Você não gosta de mim?
Ele deu um largo sorriso tranqüilizador.
— Se gosto de você? Eu acho você maravilhosa — disse. Abraçou-a apertado. Então sua mão cobriu o seio como um cálice e vagarosamente apertou-o. Ela fechou os olhos.
— Bem, então — ela sussurrou —, o que há de errado?
— Nada de errado — respondeu ele. — É maravilhoso. Você é muito bonita.
— Meu ex-marido vivia dizendo que eu era bonita. — Ela correu as costas da mão pela frente do jeans, para cima e para baixo. Ele se colocou contra ela, arqueando as costas.
— Acho que ele tinha razão.
Ela sabia o nome que ele havia lhe dado, mas certamente era falso, um nome de conveniência. Não pretendia usá-lo.
Ele tocou as faces dela. Então, pôs a boca no bico do seio. Dessa vez, enquanto lambia, levou a mão entre as pernas da mulher. A seda do vestido era suave ao toque, e pousou os dedos como uma taça sobre o púbis, aumentando a pressão lentamente.
— Seja como for, alguma coisa está errada — disse ela. — Tem alguma coisa acontecendo nessa sua linda cabeça. Tem certeza de que não quer falar sobre isso?
— É besteira — disse ele. — E eu não estou aqui por mim. Estou aqui por você.
Ela desabotoou o jeans do parceiro. Ele o empurrou para baixo e o fez escorregar até sair por completo, deixando-o cair sobre o chão, ao lado da cama. Usava uma cueca fina escarlate, e seu pênis ereto pressionava o material.
Enquanto ele tirava o jeans, a mulher removeu os brincos, feitos de fios de prata primorosamente trançados. Ela os colocou cuidadosamente ao lado da cama.
Ele riu de repente.
— O que foi? — quis saber ela.
— Apenas uma lembrança. Strip poker — disse ele. — Quando eu era garoto, não sei, treze ou quatorze anos, a gente costumava jogar com as meninas que moravam ao lado. Estavam sempre carregadas com penduricalhos... colares, brincos, lenços de pescoço, coisa do tipo. Então, quando perdiam, tiravam um brinco ou qualquer outra coisa. Dez minutos depois, a gente estava nu e constrangido, e elas ainda completamente vestidas.
— Então, por que jogava com elas?
— Esperança — disse ele, com a mão já por baixo do vestido dela, começando a massagear seus grandes lábios na calcinha de algodão.
— Esperança de que talvez a gente pudesse dar uma olhadela em alguma coisa. Qualquer coisa.
— E alguma vez conseguiu?
Ele tirou sua mão e rolou por cima dela. Ambos se beijaram. Apertaram-se enquanto se beijavam, gentilmente, virilha contra virilha. As mãos dela apertando suas nádegas.
— Não. Mas sempre se pode sonhar.
— E daí? Qual é a bobagem? E por que eu não entenderia?
— Porque isso é bobo. Porque... eu sei lá em que você está pensando. Ela abaixou a cueca dele. Correu seu dedo indicador pela lateral do pênis.
— É realmente grande. Natalie disse que seria.
— Ah é?
— Eu não sou a primeira pessoa a dizer isso a você, que ele é grande.
— Não.
Ela abaixou a cabeça e beijou seu pênis na base, onde a fonte de pêlos dourados roçavam-na. Então, gotejou um pouco de saliva sobre ele e correu a língua lentamente por todo o seu comprimento. Depois disso, virou-se, olhou fixamente com seus olhos castanhos dentro dos azuis dele.
— Você não sabe em que eu estou pensando? O que isso quer dizer? Você normalmente sabe em que as outras pessoas pensam?
Ele meneou a cabeça.
— Bem — disse ele. — Não exatamente.
— Aguarde só um momento — disse ela. — Eu já volto.
Ela se levantou, caminhou até o banheiro, fechou a porta, mas não trancou. Ouviu-se um barulho de urina caindo no vaso sanitário. Pareceu se estender por um longo tempo. A descarga foi dada, o som de movimento no banheiro, o armário abrindo, fechando, mais movimentos.
Ela abriu a porta e saiu. Estava completamente nua agora. Parecia, pela primeira vez, suavemente constrangida. Ele estava sentado sobre a cama, nu também. Seus cabelos eram loiros e cortados bem rente. Conforme ela se aproximou, ele a buscou com as mãos, segurou-a pela cintura e a puxou para perto de si. Seu rosto estava na altura do umbigo. Ele o lambeu e, então, abaixou a cabeça até a sua virilha, pressionou sua língua contra os grandes lábios, lambeu e chupou.
Ela começou a respirar mais rapidamente.
Enquanto lambia seu clitóris, enfiou um dedo na vagina. Já estava molhada e o dedo escorregou facilmente.
Ele passou a outra mão pelas costas dela, de cima para baixo, até a curva de sua bunda e a deixou ali.
— E aí? Você sempre sabe em que as pessoas estão pensando?
Ele colocou a cabeça para trás, os fluidos dela ainda em sua boca.
— É meio idiota. Quero dizer, eu realmente não quero falar sobre isso. Você vai pensar que sou esquisito,
Ela se curvou, tocou-o com a ponta dos dedos no queixo, beijou-o. Mordeu seu lábio, não muito forte, e puxou com os dentes.
— Você é esquisito, mas eu gosto quando fala. E quero saber o que há de errado, Senhor Leitor-de-Mente.
Ele sentou na cama próximo dela.
— Você tem seios lindos — disse-lhe, — Realmente adoráveis.
Ela fez um biquinho.
— Eles não são tão bons quanto antes. E não mude de assunto.
— Não estou mudando de assunto. — Deitou-se na cama.
— Não posso ler mentes na verdade. Mas meio que posso. Quando estou na cama com alguém... sei o que faz a pessoa pegar fogo.
Ela subiu por cima dele, sentou no seu estômago.
— Você está brincando.
— Não.
Ele a tocou gentilmente com os dedos no clitóris. Ela se contorceu.
— Gostoso.
Ela se moveu para baixo alguns centímetros. Agora, estava sentada sobre o pênis, pressionou-o horizontalmente. Moveu-se sobre ele.
— Eu sei... em geral, eu... você sabe como é difícil se concentrar quando se faz isso?
— Fale — disse ela. — Fale comigo.
— Enfia dentro de você.
Ela levou a mão para baixo, segurou seu pênis. Levantou-se suavemente, agachou-se sobre o membro, abocanhando a cabeça para dentro de si. Ele arqueou as costas, e penetrou na mulher. Ela fechou os olhos e, então, os abriu fitando-o intensamente.
— E aí?
— É só que, quando estou fodendo, ou mesmo na hora de foder, bem... eu sei coisas. Coisas que honestamente não saberia - ou não poderia saber. Coisas que nem mesmo quero saber. Abuso sexual. Abortos. Demência. Incesto. Se são sádicas enrustidas ou se estão roubando seus patrões.
— Por exemplo.
Estava vindo com tudo agora, estocando pausadamente para dentro e para fora.
As mãos dela repousavam em seus ombros. Encostou-se, beijou-o nos lábios.
— Bem, também funciona com sexo. Normalmente, eu sei como estou indo. Na cama. Com mulheres. Sei o que fazer. Não tenho que perguntar. Eu sei. Se ela quer fazer por cima ou por baixo, se precisa de um mestre ou de um escravo. Se quer que eu sussurre "eu te amo" várias vezes enquanto fodo e nos estendemos lado a lado, ou apenas quer que eu mije dentro da sua boca. Viro o que ela quiser. Por isso que... meu Deus. Eu não posso acreditar que estou contando isso pra você. Quer dizer, foi assim que comecei a fazer isso pra viver.
— É, A Natalie confia muito em você. Ela me deu o seu número.
— Ela é muito legal. Natalie. E em boa forma pra idade.
— E o que a Natalie gosta de fazer, então?
Ele sorriu para ela.
— Segredos do ofício — disse ele. — Jurei manter sigilo. Palavra de Escoteiro.
— Espere — disse ela. Saiu de cima dele, virou-se de lado. — Por trás. Eu gosto que foda por irás.
— Eu deveria saber — disse ele, soando quase irritado. Levantou, posicionou-se atrás dela, correu um dedo de cima a baixo na pele macia que cobria sua espinha. Colocou sua mão entre suas pernas, então agarrou o pênis e o enfiou na vagina.
— Bem devagar — disse ela.
Ele empurrou o quadril, deslizando seu pênis para dentro dela. Ela ofegou.
— Está bom assim? — perguntou ele.
— Não — disse ela. — Dói um pouquinho quando entra inteiro. Não tão fundo da próxima vez. Então, você sabe coisas sobre as mulheres quando transa com elas. O que sabe sobre mim?
— Nada de especial. Sou um grande fã seu.
— Me poupe.
Um de seus braços cruzava sobre os seios dela. Sua outra mão tocava seus lábios. Ela chupou seu dedo indicador, lambendo-o.
— Bem, não um grande fã. Mas eu vi sua entrevista no Letterman, e achei você maravilhosa. Bem divertida.
— Obrigada.
— Eu não posso acreditar que a gente está fazendo isso.
— Fodendo?
— Não. Falando enquanto fademos.
— Eu gosto de falar enquanto fodo. Basta desse jeito. Meus joelhos estão cansados.
Ele tirou e se sentou na cama.
— Então, você sabe o que as mulheres pensam, e o que elas querem? Hmm. Isso funciona com homens?
— Não sei. Nunca fiz amor com um homem.
Ela o olhou fixamente Colocou seu dedo na testa dele, e o correu lentamente até o queixo, traçando a linha dos ossos da sua face.
— Mas você e tão bonito.
— Obrigado.
— E você é um michê.
— Um acompanhante.
— E vaidoso também,
— Talvez. E você não é?
Ela deu um largo sorriso.
— Touché. Então, você não sabe o que eu quero agora?
— Não.
Ela se deitou de lado.
— Coloque uma camisinha e me foda no cú.
— Você tem lubrificante?
— No criado-mudo.
Ele pegou a camisinha e o gel da gaveta, e desenrolou-a ao redor do pênis.
— Odeio camisinha — disse enquanto vestia. Elas me dão coceira. E tenho ficha de saúde limpa. Mostrei o certificado a você.
— Não me importo.
— Só achei que tinha mencionado isso. É só.
Ele espalhou lubrificante dentro e em volta do seu ânus, e então escorregou a cabeça do pênis para dentro. Ela gemeu. Ele fez uma pausa.
— Está... Tá tudo bem?
— Sim.
Ele mexeu para frente e para trás, colocando mais fundo. Ela grunhia de modo cadenciado a cada movimento. Após alguns minutos, disse:
— Já é o bastante.
Ele tirou. Ela rolou de costa e tirou a camisinha borrada do pênis, deixando-a cair no carpete.
— Pode gozar agora.
— Eu não estou pronto. E nós ainda podemos transar por horas.
— Não me importo. Goze na minha barriga. — Sorriu para ele. — Masturbe-se até gozar.
Ele assentiu com a cabeça, mas sua mão já estava segurando desajeitadamente o pênis, movendo-o para frente e para trás até que esguichou um rastro brilhante por toda sua barriga e seios.
— Acho que já pode ir embora — disse ela.
— Mas você não gozou ainda. Não quer que eu faça você gozar?
— Já consegui o que queria.
Ele sacudiu a cabeça, confuso. Seu pênis estava flácido e encolhido.
— Eu deveria saber — disse intrigado. — Eu não... Eu não sei. Eu não sei nada.
— Vista-se — disse ela. — Vá embora.
Ele vestiu as roupas rápido, começando pelas meias. Então, inclinou-se para beijá-la.
Ela moveu a cabeça evitando seus lábios.
— Não — disse ela.
— Posso ver você novamente?
Ela sacudiu a cabeça.
— Acho que não.
Ele estava tremendo.
— E o dinheiro? — perguntou.
— Já paguei — disse ela. — Paguei quando você entrou. Não se lembra?
Ele fez que sim com a cabeça, nervoso, como se não pudesse lembrar, mas não ousasse admitir. Então, apalpou seus bolsos até que encontrou um envelope com dinheiro dentro, e mais uma vez, fez sinal com a cabeça.
— Sinto-me vazio — disse melancólico. Ela mal notou quando ele saiu.
Permaneceu na cama com a mão sobre a barriga, o fluido do esperma secando e esfriando em sua pele, e experimentou o rapaz em sua mente.
Degustou cada mulher com quem ele dormira. Experimentou o que fez com sua amiga, rindo das pequenas perversões de Natalie. Saboreou o dia em que perdeu seu último trabalho. Provou a manhã em que acordara, ainda bêbado, no carro, no meio de um milharal, quando, aterrorizado, renunciou solenemente à bebida para sempre. Ela soube seu verdadeiro nome. Lembrou-se do nome que havia, uma vez, sido tatuado no seu braço e sabia o porquê de não poder mais continuar lá. Provou a cor de seus olhos por dentro, e teve calafrios com o pesadelo que o atormentava, no qual era forçado a carregar peixes espinhosos com a boca, o que o fazia acordar engasgando, noite após noite. Saboreou seu apetite por comida e ficção, e descobriu um céu escuro quando, ele ainda garotinho, olhava fixamente para estrelas, admirado por sua vastidão e imensidão; algo que até o rapaz já esquecera.
Mesmo no material mais insignificante, menos promissor, ela havia descoberto que se encontravam verdadeiros tesouros, E ele tinha um pouco desse talento, embora nunca tivesse entendido, ou usado para outro propósito a não ser sexo. Ela se perguntava, enquanto nadava em suas memórias e sonhos, se o coitado sentiria falta deles, se algum dia notaria que haviam desaparecido. E então, estremeceu, estática, gozou, em lampejos luminosos, que a aqueceram e a tiraram de si, levando-a à perfeição extrema da pequena morte.
Houve um estrondo no beco, lá embaixo. Alguém havia tropeçado numa lata de lixo.
Sentou-se e esfregou o melado da pele. Então, sem se lavar, começou a se vestir mais uma vez, começando pela calcinha branca de algodão e terminando com seus brincos elaborados de prata.
BOLINHOS DE BEBÊ
Alguns anos atrás, todos os animais foram embora.
Acordamos uma manhã e eles simplesmente não estavam mais lá. Nem mesmo nos deixaram um bilhete ou disseram adeus. Nunca conseguimos saber ao certo para onde foram.
Sentimos sua falta.
Alguns de nós pensaram que o mundo tinha se acabado, mas não tinha.
Só que não havia mais animais. Não havia gatos ou coelhos, cachorros ou baleias, não havia peixes nos mares, nem pássaros nos céus.
Estávamos sós.
Não sabíamos o que fazer.
Vagueamos por aí, perdidos por um tempo, e então alguém observou que, só porque não tínhamos mais animais, não havia motivo para mudar nossas vidas. Não havia razão para mudar nossa dieta ou parar de testar produtos que podem nos fazer mal.
Afinal de contas, ainda havia os bebês.
Bebês não falam. Mal podem se mexer. O bebê não é uma criatura racional, pensante.
Fizemos bebês.
E os usamos.
Alguns deles, comemos. Carne de bebê é tenra e suculenta.
Esfolamos suas peles e nos enfeitamos com elas. Couro de bebê é macio e confortável.
Alguns deles, usamos em testes.
Mantínhamos seus olhos abertos com fitas adesivas e pingávamos detergentes e shampoos neles, uma gola de cada vez.
Nós os marcamos e os escaldamos. Nós os queimamos. Nós os prendemos com braçadeiras e plantamos eletrodos em seus cérebros. Enxertamos, congelamos e irradiamos.
Os bebês respiravam nossa fumaça e, na veias dos bebês, fluíam nossos remédios e drogas, até eles pararem de respirar ou até o sangue deles não correr mais.
Era duro, é claro, mas necessário.
Ninguém podia negar isso.
Com a partida dos animais, o que mais podíamos fazer?
Algumas pessoas reclamaram, claro. Mas elas sempre fazem isso.
E tudo voltou ao normal.
Só que...
Ontem, todos os bebês se foram.
Não sabemos para onde. Nem mesmo os vimos partir.
Não sabemos o que vamos fazer sem eles.
Mas pensaremos em algo. Humanos são espertos. É o que nos faz superiores aos animais e aos bebês.
Vamos bolar alguma coisa.
MISTÉRIOS DE ASSASSINATOS
Isto é verdade.
Dez anos atrás, ou um ano a mais ou a menos, encontrei-me numa parada forçada em Los Angeles, longe de casa. Era dezembro, e o tempo na Califórnia era quente e agradável. A Inglaterra, entretanto, estava envolta por neblina e tempestades de neve, e avião algum pousava lá. Todo dia eu ligava para o aeroporto, e todo dia diziam-me para esperar pelo dia seguinte.
Isso perdurou por quase uma semana.
Estava quase saindo da minha adolescência. Vendo hoje os trechos da minha vida passados naquela época, sinto-me incomodado, como se tivesse recebido, sem pedir, um presente de alguém: uma casa, uma esposa, crianças, uma vocação. Nada a ver comigo, poderia dizer inocentemente. Se for verdade que, a cada sete anos, toda célula de seu corpo morre e é substituída, então, eu de fato herdei a vida de um homem morto — as más ações daqueles tempos foram perdoadas, e estão enterradas com seus ossos.
Eu estava em Los Angeles. Sim.
No sexto dia, recebi uma mensagem de uma espécie de antiga namorada de Seattle: ela estava em Los Angeles também e tinha ouvido dizer, por uma rede de amigo que conta para amigo, que eu estava por ali. Será que iria vê-la?
Deixei uma mensagem na sua secretária eletrônica. Claro,
Naquela noite, uma mulher baixinha e loira aproximou-se de mim quando eu saía do lugar em que estava hospedado,
Ela olhou fixamente para mim, como se tentasse me encaixar numa descrição e, então, hesitantemente, disse meu nome.
— Sou eu. Você é amiga da Tink?
— Sou. O carro está lá fora. Vamos. Ela está mesmo ansiosa pra ver você.
O carro da mulher era uma dessas barcas que só se vêem na Califórnia. Cheirava a estofamento de couro rachado e descamado. Nós nos dirigimos de um lugar qualquer para qualquer lugar.
Los Angeles era, naquele tempo, um total mistério para mim. Não posso dizer que a entenda melhor agora. Compreendo Londres, Nova Iorque e Paris — você pode dar um giro, ter noção de onde estão as coisas em apenas uma manhã de perambulação, talvez pegar o metrô. Mas Los Angeles é para carros. Naquela época, eu não dirigia; mesmo hoje, eu não guiaria nos Estados Unidos. Para mim, as lembranças de Los Angeles são ligadas a voltas nos carros dos outros, sem nenhum senso do desenho da cidade ou da relação entre as pessoas e o lugar. A regularidade das ruas, a repetição de estrutura e forma significam que, quando tento lembrar dela como uma entidade, tudo o que tenho é uma profusão sem limites das pequenas luzes que avistei da colina do Parque Griffith uma noite, na minha primeira viagem à cidade. Foi uma das coisas mais bonitas que já vi, daquela distância.
— Vê aquele prédio? — disse a motorista loira, amiga de Tink. Era uma casa em estilo Art Déco de tijolos vermelhos, charmosa mas bem feia.
— Sim.
— Foi construída na década de trinta — disse com respeito e orgulho.
Falei algo educado, tentando compreender a cidade na qual cinqüenta anos poderiam ser considerados muito tempo.
— Tink está entusiasmada de verdade. Quando soube que você estava na cidade, ficou muito animada.
— Estou esperando ansiosamente para revê-la.
O nome real de Tink é Tinkerbell Richmond. Não é mentira.
Ela estava morando provisoriamente com amigos num apartamento pequeno, em algum lugar a uma hora de carro de Los Angeles.
O que você precisa saber da Tink: era dez anos mais velha do que eu, trinta e poucos anos, tinha cabelo preto brilhante, lábios vermelhos e intrigantes e pele muito branca, como a da Branca de Neve dos contos de fadas. A primeira vez que a encontrei, achei que fosse a mulher mais bonita do mundo.
Tink fora casada por um tempo, em alguma fase da sua vida, e tinha uma filha de cinco anos de idade chamada Susan. Eu nunca havia encontrado Susan — quando Tink foi para a Inglaterra, Susan ficou em Seattle, com o pai.
Pessoas com o nome de Tinkerbell chamam suas filhas de Susan.
A memória é uma grande trapaceira. Talvez haja pessoas nas quais as lembranças agem como uma fita de gravação, registros diários de suas vidas completas em cada detalhe, mas eu não sou uma delas. Minhas recordações são uma colcha de retalhos de ocorrências, eventos desconexos costurados toscamente. As partes de que me lembro são precisas, enquanto outras seções parecem ter desaparecido por completo.
Eu não me recordo de ter chegado à casa da Tink, nem aonde seus colegas haviam ido.
A próxima coisa de que me lembro é estar sentado na sala da Tink, à meia-luz, os dois próximos um do outro, em seu sofá.
Conversamos um pouco. Um ano se passara desde a última vez que nos tínhamos visto. No entanto, um menino de vinte e um anos de idade tem pouco a dizer a uma mulher de trinta e um. Logo, não tendo nada em comum, puxei-a pra mim.
Ela se aninhou com uma espécie de suspiro, e apresentou seus lábios para serem beijados. À meia-luz, eles eram negros. Nós nos beijamos um pouco no sofá, segurei seus seios através da blusa, então ela disse:
— Não podemos transar. Estou menstruada.
— Tá bom.
— Posso te fazer um boquete, se quiser.
Fiz sinal com a cabeça que sim, ela abriu o zíper dos meus jeans e abaixou a cabeça sobre meu colo.
Após eu ter gozado, ela se levantou e correu até a cozinha. Escutei-a cuspindo na pia, o som da água correndo. Lembro-me de ter imaginado porque tinha feito aquilo, se odiava tanto o gosto.
Daí, voltou e sentamos perto um do outro no sofá.
— A Susan está no andar de cima, dormindo — disse Tink. — Ela é a razão da minha vida. Gostaria de vê-la?
— Tudo bem.
Subimos. Tink guiou-me pelo quarto escuro. Havia rabiscos de crianças por todas as paredes — desenhos de fadas aladas e pequenos palácios em giz de cera — e uma fadinha dormindo na cama.
— Ela é linda — disse Tink, e me beijou. Seus lábios ainda estavam um pouco pegajosos.
— Parece com o pai.
Descemos. Não tínhamos nada mais a falar, e nada mais a fazer. Tink acendeu a luz principal. Pela primeira vez, reparei os pequenos pés de galinha no canto de seus olhos, incongruentes em seu rosto de boneca Barbie,
— Te amo — disse ela.
— Obrigado.
— Quer uma carona de volta?
— Se você não se importar de deixar Susan sozinha...?
Ela deu com os ombros, e eu a puxei para mim pela última vez.
De noite, Los Angeles é toda luzes. E sombras.
Um vazio, aqui, em minha mente. Simplesmente não me lembro do que aconteceu depois. Ela deve ter me levado de volta ao lugar em que eu estava hospedado — afinal, como teria eu chegado lá? Nem mesmo lembro se dei um beijo de adeus. Talvez tenha simplesmente esperado na calçada e observado quando partiu.
Talvez.
O que realmente sei, contudo, é que cheguei ao lugar em que estava morando e por lá fiquei, incapaz de entrar, de me lavar e dormir, sem vontade de fazer nada.
Não tinha fome. Não queria álcool. Não queria ler nem falar. Tinha medo de andar para muito longe, caso me perdesse, enfeitiçado pelos ornamentos repetitivos de Los Angeles, girando sem parar, e me ferrar por não poder mais encontrar o caminho de casa. A região central de Los Angeles parece-me, algumas vezes, ser nada mais do que um padrão, como um conjunto de quadras que se repetem; um posto de gasolina, algumas casas, um mini-shopping (loja de rosquinhas, laboratório de revelação de fotos, tinturaria e pratos rápidos), que se sucedem até hipnotizar; e as pequenas diferenças servem apenas para reforçar essa estrutura.
Pensei nos lábios de Tink. Então, enfiei a mão desajeitadamente no bolso da minha jaqueta e puxei um maço de cigarros.
Acendi um, traguei, soprei a fumaça azul no ar quente da noite. Havia uma palmeira atrofiada plantada do lado de fora do lugar onde me hospedava. Resolvi caminhar, mantendo a árvore à minha vista, a fim de firmar meu cigarro, talvez até pensar, mas sentia-me muito fatigado para pensar. Sentia-me assexuado e solitário.
A uma quadra, ou mais ou menos isso, descendo a rua, havia um banco. Caminhei até lá e me sentei. Joguei a bituca do cigarro na calçada e assisti à chuva de faíscas alaranjadas.
Alguém disse:
— Eu te compro um cigarro, amigo. Toma.
A mão na frente de meu rosto segurava vinte e cinco centavos. Ergui a cabeça. Ele não parecia velho, embora eu não estivesse em condição de dizer sua idade. Quase quarenta, talvez. Quarenta e poucos. Vestia uma longa capa surrada, sem cor sob a luz amarelada dos postes de iluminação; seus olhos eram escuros.
— Toma. Vinte e cinco centavos. É um bom preço.
Meneei a cabeça, peguei o maço de Marlboro e lhe ofereci.
— Guarde seu dinheiro. É de graça. Pegue.
Pegou o cigarro. Passei-lhe uma carteia de fósforos (com o anúncio de tele-sexo, lembro-me disso), e ele o acendeu. Devolveu-me os fósforos, fiz que não com a cabeça.
— Fique com eles. Sempre acabo juntando essas cartelas de fósforo nos Estados Unidos.
— Anh-hãm. Sentou-se próximo a mim e fumou o cigarro. Quando tinha fumado metade, deu uma leve batida na extremidade acesa sobre o concreto, apagou a brasa e colocou o toco do cigano atrás da orelha.
— Eu não fumo muito — disse. — Mesmo assim, acho uma pena desperdiçar.
Um carro passou a toda velocidade pela rua, virando de um lado para o outro. Havia quatro rapazes em seu interior, os dois da frente puxavam a direção e riam. As janelas estavam abaixadas e pude escutar as risadas dos dois de trás (Gaary, seu cuzão! Mas que porra é essa que você está fazendo, cara?), e a batida pulsante de uma canção de rock. Não um que eu reconhecesse. O carro virou a esquina, saindo de vista. Logo os sons se foram também.
— Estou em débito — disse o homem no banco.
— Corno?
— Te devo uma. Pelo cigarro. E os fósforos. Você não quis o dinheiro. Te devo uma.
Dei de ombros constrangido.
— Sério, é só um cigarro. Imagino que, se der cigarros para as pessoas, quando eu ficar sem, talvez elas me dêem alguns. — Ri para mostrar que não queria realmente dizer aquilo, embora o tivesse dito. — Não se preocupe.
— Hmmm. Quer ouvir uma história? Uma história real? Histórias sempre foram um bom pagamento. Nos dias de hoje... — deu de ombros — ... nem tanto.
Sentei-me no banco, a noite estava quente, olhei no relógio: era quase uma da manhã. Na Inglaterra, um novo dia enregelado já estava começando. Um novo dia de labuta iniciava-se para aqueles que vencessem a neve e conseguissem chegar ao trabalho; uma porção de velhos e sem-teto teriam morrido à noite, de frio.
— Claro — eu disse ao homem. — Claro. Conte-me a história.
Ele tossiu, deu um largo sorriso branco, um clarão na noite, e começou.
— A primeira coisa de que me lembro foi o Verbo. E o Verbo era Deus. Algumas vezes, quando estou deprimido mesmo, lembro-me do som do Verbo em minha mente, dando-me forma, moldando-me, dando-me vida.
O Verbo deu-me corpo, deu-me olhos. Abri meus olhos e então vi a luz da Cidade Prateada.
Eu estava em meu quarto — um quarto prateado — e não havia nada no seu interior, a não ser eu mesmo. Na minha frente, uma janela que ia do piso até o teto, aberta para o céu, e, através dela, podia ver as torres da Cidade e, nos limites da Cidade, as Trevas.
Não sei quanto tempo esperei ali. Eu não estava impaciente ou coisa parecida. Lembro que era como se esperasse até que fosse chamado, e sabia que, em algum momento, o seria. E se tivesse que esperar até o fim de tudo e nunca fosse chamado, não teria o menor problema. Mas eu seria chamado, tinha certeza disso. Então, saberia meu nome e minha função.
Pela janela, eu podia ver torres prateadas e, em muitas das delas, havia janelas; e nas janelas, podia ver outros como eu. Foi assim que soube com o que me parecia.
Você pode não acreditar, vendo-me agora, mas eu era bonito. Eu decaí demais desde então.
Eu era mais alto e tinha asas.
Eram asas enormes e poderosas, com penas da cor de madrepérola. Saíam bem do meio dos meus ombros. Eram tão boas... minhas asas.
Algumas vezes, via outros como eu, aqueles que tinham deixado seus quartos, que já estavam cumprindo seus deveres. Observava-os alçarem vôo pelo céu de janela a janela, com incumbências que eu mal podia imaginar.
O céu acima da Cidade era uma coisa maravilhosa. Estava sempre claro, embora nenhum sol o iluminasse. Talvez fosse iluminado pela própria Cidade; mas a qualidade da luz estava eternamente mudando. Ora cor de estanho, depois acobreada, mais tarde um dourado delicado ou ametista, suave e tranqüila...
O homem parou de falar. Olhou para mim, sua cabeça pendendo para o lado. Havia um brilho em seus olhos que me assustou,
— Você sabe o que é ametista? Um tipo de pedra púrpura?
Fiz que sim com a cabeça.
Senti um desconforto na minha virilha.
Ocorreu-me que talvez ele não fosse louco. Achei essa idéia muito mais perturbadora do que a outra alternativa. O homem começou a falar mais uma vez.
— Não sei por quanto tempo esperei naquele quarto. Mas o tempo não significava nada. Não naquela época. Tínhamos todo o tempo do mundo.
Algo de diferente só me aconteceu quando o anjo Lúcifer entrou na minha cela. Ele era mais alto do que eu, e suas asas eram imponentes, sua plumagem perfeita e aqueles olhos acinzentados maravilhosos...
Eu digo ele, mas compreenda que nenhum de nós tinha sexo, por assim dizer. — Fez um gesto em direção ao seu colo. — Liso e vazio. Nada aqui. Sabe como é.
Lúcifer brilhava, eu juro. Ele cintilava de dentro para fora. Todos os anjos fazem isso. São iluminados nas entranhas, e em minha cela Lúcifer ardia como uma tempestade de relâmpagos.
Ele olhou para mim. E deu-me um nome. "Você é Rague”', disse ele. 'A Vingança do Senhor'. Curvei minha cabeça, pois sabia que era verdade.
Aquele era meu nome. Aquela era minha função. 'Houve... um erro', disse. 'O primeiro dessa natureza. Você se faz necessário'.
Virou-se e lançou-se ao espaço, e eu o segui, voei atrás dele pela Cidade Prateada até seus arredores, onde a Cidade acaba e forneçam as Trevas; e lá estava, debaixo de uma vasta torre prateada pela qual descemos até a rua... lá estava o anjo morto.
O corpo repousava retorcido e quebrado, sobre a calçada de prata. Suas asas estavam amassadas debaixo dele e algumas penas soltas já haviam sido sopradas para a sarjeta prateada. O corpo estava quase escuro. Vez ou outra, uma luz brilhava em seu interior, uma tremulação ocasional do fogo frio vinda de dentro do peito, dos olhos, ou da virilha assexuada, como se o último fulgor de vida o deixasse para todo o sempre.
O sangue acumulava-se como rubi em seu peito e manchava as penas de suas asas alvas de carmesim. Era muito belo, mesmo na morte.
Era de partir o coração.
Lúcifer dirigiu-me a palavra, então: 'Você deve encontrar quem foi o responsável, descobrir como isto aconteceu e levar a Vingança do Nome a quem quer que tenha provocado esta tragédia'.
Na verdade, ele não precisava ter dito coisa alguma. Eu já sabia. Caçar e castigar: era para isso que eu fora criado, no Princípio; era exatamente o que eu era.
'Tenho trabalho a fazer', disse-me o anjo Lúcifer.
Bateu suas asas mais uma vez, com determinação, e ascendeu; a lufada de vento varreu as penas soltas do anjo morto pela rua.
Inclinei-me para examinar o corpo. Àquela altura, todas as luminescências o haviam deixado. Era uma coisa escura, uma paródia de anjo. Tinha um rosto perfeito, assexuado, emoldurado por cabelos prateados. Uma das pálpebras estava aberta, revelando um plácido olho acinzentado; a outra estava fechada. Não havia mamilos no peito e apenas uma lisura entre as pernas.
Ergui o corpo.
As costas do anjo estavam em péssimo estado; as asas, quebradas e torcidas; a parte de trás da cabeça, perfurada. Havia uma frouxidão no corpo que me fez pensar que sua espinha também fora partida. O dorso era apenas sangue.
A única mancha de sangue na frente estava na região do peito. Examinei os coágulos com o indicador, penetrei o corpo sem dificuldades.
Ele caiu, pensei. E estava morto antes de tocar o chão.
Procurei as janelas que se enfileiravam pela rua. Olhei fixamente a Cidade Prateada.
Você que fez isto, pensei. Encontrarei você, seja quem for. E levarei a você a Vingança do Senhor.
O homem apanhou a bituca do cigarro de trás da orelha, acendeu-a com um fósforo. Por um breve instante, senti o cheiro de cinzeiro do cigarro moribundo, acre e desagradável. Baixou, então, aquele tabaco não queimado, exalando uma fumaça azul no ar da noite.
— O anjo que descobriu o corpo chamava-se Phanuel.
Falei com ele no Salão da Existência. Tratava-se da torre ao lado de onde jazia o anjo morto. No Salão, pendiam as... as plantas, talvez, do que viria a ser... tudo isso. — E fez um gesto com a mão que segurava a bituca de cigarro, apontando o céu da noite, os carros estacionados e o mundo. — Entende? O universo.
Phanuel era o projetista-chefe; sob seu comando, uma multidão de anjos trabalhava nos detalhes da Criação. Observei-o do chão do Salão. Ele pendia no ar abaixo do Plano, e anjos voavam até ele, esperando educadamente em turnos enquanto faziam perguntas, conferiam coisas, incitavam comentários acerca de seus trabalhos. Finalmente, ele os deixou e desceu até o chão.
'Você é Raguel', disse. Sua voz era alta e nervosa. 'O que quer de mim?’
'Você encontrou o corpo?'
'Pobre Carasel! Realmente, fui eu que encontrei. Eu estava deixando o Salão — há um grande número de conceitos que estamos construindo no momento, e eu desejava meditar sobre um deles, chamado Arrependimento. Eu pretendia me afastar um pouco da Cidade — sobrevoá-la, quero dizer, não ir até as Trevas externas, eu não faria isso, apesar de haver menções a ... pois bem. Eu estava prestes a alçar vôo e contemplar.
Deixei o Salão, e... — calou-se, Era pequeno para um anjo. Sua luz era suave, mas seus olhos eram vívidos e brilhantes. Realmente brilhantes. 'Pobre Carasel Como pôde fazer isso a si mesmo? Como?'
'Você acha que sua destruição foi auto-infligida?'
Ele pareceu intrigado, surpreso que pudesse haver qualquer outra explicação.
'Mas é claro. Carasel estava trabalhando sob minha tutela, desenvolvendo vários conceitos que deverão ser intrínsecos ao universo quando o Nome for Proferido. Seu grupo fez um trabalho notável em alguns dos conceitos básicos — Dimensão era um deles, e Sono, outro. Havia mais'.
'Trabalho magnífico. Algumas de suas sugestões referentes ao uso de pontos de vistas individuais para definir as dimensões foram verdadeiramente inventivas.
Não importa. Ele havia começado a trabalhar em um novo projeto. Trata-se realmente de um dos principais — um daqueles de que normalmente eu me ocuparia, ou possivelmente até mesmo Zephkiel'. Ele voltou o olhar para cima. 'Mas Carasel havia feito um excelente trabalho. E seu último projeto era tão notável. Algo aparentemente trivial que ele e Saraquael elevaram a...' Ele deu de ombros. 'Mas isso não importa. Foi esse projeto que o levou a não-existência. Nenhum de nós, no entanto, poderia ter previsto...'
'Qual era seu atual projeto?'
Phanuel olhou-me fixamente.
'Não sei ao certo se devo lhe contar. Todos os novos conceitos são considerados sensíveis até lhes darmos a forma final com a qual serão Proferidos'.
Eu me senti, então, em transformação. Não sei ao certo como posso lhe explicar isso, mas, súbito, eu não era mais eu... era algo maior. Eu estava transfigurado: havia me tornado minha função.
Phanuel foi incapaz de me fitar nos olhos.
'Eu sou Raguel, aquele que é a Vingança do Senhor', disse-lhe. 'Sirvo o Nome diretamente. É minha missão descobrir a natureza deste evento e levar a punição do Nome aos responsáveis. Minhas perguntas devem ser respondidas'.
O pequeno anjo tremeu, e falou rápido.
'Carasel e seu parceiro estavam pesquisando a Morte. O cessar da vida. Um fim para a existência física e animada. Estavam compondo o processo. Mas Carasel sempre ia longe demais no seu trabalho. Tivemos um grande problema com ele quando estava projetando a Agitação. Isso foi quando estava trabalhando nas Emoções...'
'Você acha que Carasel morreu para... para pesquisar o fenômeno?'
'Ou porque isso o intrigava. Ou porque levou muito longe sua pesquisa. Sim'. Phanuel flexionou seus dedos, contemplou-me com aqueles olhos brilhantes e reluzentes. 'Eu espero que você não repita nada disso a pessoas não-autorizadas, Raguel'.
'O que você fez quando encontrou o corpo?'
'Eu saí do Salão, como disse, e lá estava Carasel na calçada, olhando fixamente para cima. Perguntei-lhe o que estava fazendo, mas não respondeu. Então, reparei no fluído interno, e que Raguel parecia incapaz, mais do que não desejoso, de falar comigo.
Eu fiquei apavorado. Não sabia o que fazer.
O anjo Lúcifer apareceu atrás de mim. Perguntou-me se havia algum problema. Eu lhe disse. Mostrei-lhe o corpo. E então... então seu Aspecto dominou-o, e ele se comungou com o Nome. Ardia tão luminosamente.
Então disse que devia buscar aquele cuja função embarca eventos como este, e partiu... à sua procura, imagino.
Como já estavam se ocupando da morte de Carasel e seu destino não era realmente do meu interesse, retomei ao trabalho, tendo ganho uma nova — e creio eu, muito valiosa — perspectiva sobre os mecanismos do Arrependimento.
Estou considerando tirar a Morte da parceria de Carasel e Saraquael. Devo reincumbir dela Zephkiel, meu parceiro-sênior, se estiver disposto a assumi-la. Ele se sobressai em projetos contemplativos.'
A essa altura, havia uma fila de anjos aguardando para falar com Phanuel. Senti que já obtivera quase tudo que poderia extrair dele.
'Com quem Carasel trabalhava? Quem foi o último a vê-lo com vida?'
'Você deveria falar com Saraquael, presumo. Afinal de contas, ele era o seu parceiro. Agora, se me der licença...'
Ele voltou a seu enxame de auxiliares: aconselhando, corrigindo, sugerindo, vetando.
O homem fez uma pausa.
A rua estava silenciosa agora, lembro-me do sussurro baixo de sua voz e do zumbido dos grilos em algum lugar. Um animal pequeno — um gato talvez, ou algo mais exótico, um guaxinim, talvez um chacal — precipitava-se de sombra em sombra entre os carros estacionados no lado oposto da rua.
— Saraquael estava no mezanino mais alto das galerias que circundavam o Salão da Existência. Como disse, o universo encontrava-se no meio do Salão. Cintilava, brilhava e reluzia. Era um bocado grande também...
— O universo que você menciona era o quê? Um diagrama? — indaguei, interrompendo-o pela primeira vez,
— Não exatamente. Mais ou menos. Quase isso. Era uma planta; mas em tamanho natural, pendendo no Salão. Todos aqueles anjos o rodeavam e o manipulavam o tempo todo. Elaboravam coisas com a Gravidade, Música, Klar e tudo mais. Não era realmente o universo. Ainda não. Seria, quando estivesse concluído e chegasse a hora de ser propriamente Nomeado.
— Mas... — Procurei palavras para expressar minha confusão. O homem interrompeu-me,
— Não se preocupe. Pense nele como um modelo, se facilitar. Ou um mapa. Ou um... qual é a palavra? Protótipo. Isso mesmo. Um Ford modelo-T do universo, — Deu um largo sorriso. — Entenda: muitas das coisas que estou contando, já estou traduzindo, colocando numa forma que você possa compreender. De outro jeito, nunca poderia contar essa história. Ainda quer ouvir?
— Claro. — Não me importava se era verdade ou não. Era uma história que eu precisava escutar até o fim.
— Bom. Então, cale a boca e ouça. Por fim, encontrei Saraquael na galeria mais elevada. Não havia mais ninguém, somente ele, alguns papéis, e uns pequenos modelos brilhantes.
'Vim por causa de Carasel', disse-lhe.
Ele se voltou para mim.
'Carasel não está no momento', respondeu. 'Espero que retorne em breve’.
Meneei a cabeça.
'Carasel não retornará. Deixou de existir como uma entidade espiritual', expliquei-lhe.
Sua luz empalideceu e seu olhos se arregalaram.
'Ele está morto?’
'Foi o que eu disse. Você faz idéia do que aconteceu?'
'Eu... isto é tão repentino. Quero dizer, ele havia falado sobre... mas eu não fazia idéia de que iria...'
'Não tenha pressa.'
Saraquael assentiu com um gesto de cabeça.
Levantou-se e caminhou até a janela. Não havia vista para a Cidade Prateada dali — apenas o reflexo do brilho da Cidade e o céu atrás de nós, pendendo no ar; além disso, as Trevas. O vento das Trevas acariciava gentilmente os cabelos de Saraquael enquanto falava. Eu olhava fixamente suas costas.
'Carasel é... não, era. É isso, não? Era. Era sempre tão envolvido. Tão criativo. Mesmo assim, para ele, nunca era o suficiente. Sempre quis entender tudo, experimentar aquilo em que trabalhava. Não se satisfazia em apenas criar, compreender intelectualmente. Queria tudo.
Antes, quando trabalhávamos nas propriedades da matéria, isso não era um problema. No entanto, quando começamos a projetar algumas das emoções Nomeadas... ele se envolveu demais.
Nosso último projeto foi a Morte. É um dos difíceis, um dos maiores também, suponho. Possivelmente poderá até mesmo tornar-se o atributo que definirá a Criação para a Criatura: Se não fosse a Morte, eles ficariam satisfeitos apenas em existir, mas, com a Morte, bem, suas vidas terão sentido, uma fronteira além da qual os vivos não podem ir..'.
'Então você acha que ele se matou?'
'Eu tenho certeza de que ele fez isso', disse Saraquael.
Andei até a janela e olhei através dela, Muito abaixo, bem distante, eu podia ver um pequeno ponto branco. Era o corpo de Carasel. Eu teria de providenciar alguém para se encarregar dele. Não imaginava o que faríamos com aquilo, mas tinha de haver alguém que soubesse, alguém cuja função fosse remover coisas indesejáveis. Não era a minha função. Disso, eu sabia.
'Como?'
Ele deu de ombros.
'Simplesmente, sei. Nos últimos tempos, ele começara a fazer perguntas... questões sobre a Morte. Como poderíamos saber se era ou não correto fazer esse tipo de coisa, estipular regras, se não as experimentássemos nós mesmos. Ele vivia falando sobre isso!
'E você não se indagava a respeito?'
Saraquael voltou-se pela primeira vez para me fitar.
'Esta é a nossa função: discutir, improvisar, ajudar a Criação e a Criatura. Estamos avaliando tudo agora a fim de que, quando Começar, funcione com perfeição. Neste momento, estamos trabalhando na Morte. Portanto, obviamente é isto que estamos abordando. Os aspectos físicos, os aspectos emocionais, os aspectos filosóficos... e os padrões. Carasel tinha a idéia de que o que fazemos aqui no Salão da Existência gera padrões. Que existem estruturas e formas apropriadas aos seres e aos eventos que, uma vez iniciadas, deverão continuar até que encontrem o seu fim. Para nós, talvez, assim como para eles. Supostamente, ele sentia que este era um dos seus padrões.'
'Você conhecia bem Carasel?’
'Tão bem quanto qualquer um de nós conhece o outro. Nós nos víamos aqui, trabalhávamos lado a lado. Em certas ocasiões, eu me recolhia à minha cela no outro lado da Cidade. Outras, ele fazia o mesmo.'
'Fale-me a respeito de Phanuel'
Sua boca torceu-se num sorriso.
'Ele é subserviente. Não faz muito; administra tudo e fica com o crédito.' Ele abaixou o tom da voz, apesar de não haver outra alma na galeria. 'Se ouvi-lo falar, pode até pensar que o Amor foi todo obra dele. Seu crédito, porém, é certificar-se de que o trabalho se realize. Zephkiel é o verdadeiro pensador entre os dois projetistas-sêniores, mas ele não vem aqui. Fica contemplando em sua cela, na Cidade; resolve problemas à distância. Quem precisa falar com Zephkiel, procura Phanuel e ele transmite suas dúvidas...'
Eu o interrompi: 'E Lúcifer? Fale-me a respeito dele.'
'Lúcifer? O Capitão da Hoste? Ele não trabalha aqui... mas visitou o Salão umas duas vezes... inspecionando a Criação. Dizem que responde diretamente ao Nome. Nunca falei com ele.'
'Ele conhecia Carasel?'
'Duvido. Como disse, ele só veio aqui duas vezes, mas eu o vi em outras ocasiões. Daqui.' Ele tremulou a ponta de uma asa, indicando o mundo fora da janela. 'Em pleno vôo.'
'Para onde?'
Saraquael parecia estar prestes a dizer alguma coisa, quando mudou de idéia. 'Eu não sei.'
Olhei peia janela as Trevas além da Cidade Prateada.
'É possível que eu queira falar com você mais tarde', disse a Saraquael.
'Muito bem.' Virei-me para ir. 'Senhor? Já sabe se me destinarão outro parceiro? Para a Morte?’
'Não', disse. 'Lamento, mas não sei.'
No centro da Cidade Prateada, havia um parque, um lugar para recreação e descanso. Lá encontrei o Anjo Lúcifer, à margem de um rio. Estava parado, contemplando a água fluir.
'Lúcifer?'
Ele inclinou a cabeça.
'Raguel. Teve progressos?'
'Não sei. Talvez. Preciso lhe fazer algumas perguntas. Você se importa?'
'De forma alguma.'
'Como você chegou ao corpo?'
'Não cheguei. Não exatamente. Eu vi Phanuel na rua. Ele parecia perturbado. Questionei-o se havia algo errado e ele me mostrou o anjo morto. Então, fui buscar você.'
'Entendo.'
Ele se curvou para baixo, pôs uma das mãos na água fria do rio. O líquido salpicava e corria em volta dela.
'Isso é tudo?'
'Não. O que você estava fazendo naquela parte da Cidade?'
'Não sei por que isso seria de sua conta.'
'Isso é de minha conta, Lúcifer. O que você estava fazendo lá?'
'Eu estava... estava caminhando. Faço isso algumas vezes. Apenas caminhar e pensar. Tentar entender.' E deu de ombros.
'Você anda nos extremos da Cidade?'
Uma leve pancada na água.
'Sim.'
‘É tudo que quero saber. Por ora.'
'Com quem mais você já falou?'
‘Com o chefe de Carasel e seu parceiro. Ambos sentem que ele se matou, deu cabo da própria vida.'
‘Com quem mais pretende falar?'
Olhei para o alto. As torres da Cidade dos Anjos elevavam-se acima de nós.
'Talvez com todos.'
'Todos?'
'Se for preciso. Esta é a minha função. Não posso descansar até que compreenda o que aconteceu e até que a Vingança do Nome tenha sido levada a quem for o responsável. Mas lhe digo uma coisa que realmente sei!
'O que seria?' Gotas d'água caíram como diamantes dos dedos perfeitos do Anjo Lúcifer.
'Carasel não se matou.'
'Como você sabe?'
'Eu sou a Vingança, Se Carasel tivesse morrido pelas próprias mãos', expliquei ao Capitão da Hoste Celestial, 'não haveria nenhum chamado para mim. Haveria?'
Ele não respondeu.
Alcei vôo pela luz da eterna manhã.
— Você tem outro cigarro?
Retirei desajeitadamente o maço vermelho e branco, e lhe dei um cigarro,
— Obrigado. A cela de Zephkiel era maior do que a minha.
Não era uma local de espera. Era um ambiente para se viver, trabalhar, e estar. Era repleta de pergaminhos e papéis enfileirados, e havia imagens e representações nas paredes: quadros. Eu nunca vira um quadro antes.
No centro da sala, havia uma grande cadeira, e Zephkiel estava sentado nela, seus olhos fechados, a cabeça para trás.
Quando me aproximei, ele abriu os olhos.
Eles não ardiam de maneira mais resplandecente do que os olhos de qualquer outro anjo que eu houvesse visto, mas, de alguma forma, pareciam ter enxergado muito mais. Era alguma coisa no jeito de ele olhar. Não tenho certeza se posso explicar. E ele não tinha asas.
'Bem-vindo, Raguel', disse. Soava cansado.
‘Você é Zephkiel?'
Não sei por que lhe perguntei isso. Afinal, eu sabia quem eram as pessoas. Era parte de minha função, eu acho. Reconhecimento. Eu sei quem você é.
‘O próprio. Você está me encarando, Raguel. Não tenho asas, é verdade, mas, de qualquer forma, minha função não requer que eu deixe esta cela. Permaneço aqui, meditando. Phanuel apresenta relatórios para mim, traz coisas novas para eu opinar. Ele vem com problemas, eu pondero a respeito e, ocasionalmente, sou útil fazendo algumas pequenas sugestões. Esta é a minha função. Assim como a sua é a vingança.’
'Sim.'
'Você está aqui por causa da morte do Anjo Carasel?’
'Sim'
'Eu não o matei.'
Quando ele disse isso, eu soube que era verdade.
'Você sabe quem o matou?'
'Esta é a sua função, não é? Descobrir quem matou o pobre e levar a Vingança do Nome até o responsável'.
'Sim.'
Ele assentiu com a cabeça.
'O que quer saber?'
Fiz uma pausa para refletir sobre o que eu havia escutado naquele dia.
'Você sabe o que Lúcifer estava fazendo naquela parte da Cidade antes de o corpo ser encontrado?'
O velho anjo me fitou.
'Posso arriscar um palpite?'
'Sim?'
'Ele eslava caminhando nas Trevas.’
Assenti com a cabeça. Eu tinha uma forma em minha mente agora. Algo que quase podia compreender. Fiz-lhe uma pergunta.
'O que você pode me dizer sobre o Amor?'
E ele me disse. Então, achei que já tinha tudo de que precisava.
Retornei ao local onde o corpo de Carasel fora encontrado. Os restos tinham sido removidos, o sangue limpo, as penas extraviadas recolhidas e removidas. Não existia nada na calçada prateada que indicasse que ele houvesse, ao menos, estado lá.
Ascendi com minhas asas, voei para o alto até me aproximar do topo da torre do Salão da Existência. Havia uma janela lá, e entrei.
Saraquael estava trabalhando, colocando um manequim sem asas numa caixa. Ao lado dela, havia uma representação de uma criatura pequena e marrom com oito pernas. Perto dali, estava a representação de uma flor alva.
'Saraquael?'
'Hm? Ah, é você. Olá. Veja isso. Caso fosse morrer e ficar, digamos, depositado no interior da terra dentro de uma caixa, o que você preferiria que repousasse sobre você — esta aranha ou o lírio.'
'O lírio, suponho.'
'Sim, é o que penso também. Mas, por quê? Quem me dera...' Levou uma mão ao queixo, olhou fixamente os dois modelos, experimentou colocar o primeiro no alto da caixa, depois o outro. 'Há tanto por fazer, Raguel. Tanto a ajustar. E só temos uma chance, sabia? Haverá apenas um Universo. Não poderemos corrigir depois até dar certo. Eu gostaria de saber por que tudo isso é tão importante para Ele...'
‘Você sabe onde fica a cela de Zephkiel?’, indaguei.
'Sei. Quer dizer, nunca estive lá. Mas sei onde fica.'
'Ótimo. Vã até lá. Ele estará à sua espera. Eu o encontrarei lá.'
Ele balançou a cabeça negativamente.
'Eu tenho trabalho a fazer. Não posso simplesmente...'
Senti minha função apoderando-se de mim. Baixei meus olhos nele e disse:
'Você estará lá. Agora vá.'
Ele não disse nada. Afastou-se de mim em direção à janela, fitando-me; então, virou-se e bateu as asas, e eu fiquei sozinho.
Caminhei até o poço central do Salão e me deixei cair, desabando através do modelo do universo: ele brilhava ao meu redor, cores e formas desconhecidas, ferviam e contorciam-se sem sentido.
Conforme me aproximei do fundo, bati minhas asas, desacelerando minha queda, e pisei delicadamente no piso prateado. Phanuel estava entre dois anjos que tentavam chamar sua atenção.
'Não interessa o quanto seria esteticamente agradável', ele explicava a um deles, 'Não podemos simplesmente colocá-lo no centro. A radiação de fundo impediria qualquer forma de vida de se desenvolver. Além do mais, é muito instável.'
Virou-se para o outro.
'Certo, vamos ver. Então, isso é o Verde, não? Não é exatamente o que imaginei, mas... Mm. Deixe comigo. Volto a falar com você.' Pegou um papel do anjo, dobrou-o decididamente.
Voltou-se para mim. Seus modos eram bruscos e evasivos.
'Sim.'
'Preciso falar com você.'
'Mm? Mas seja rápido. Tenho muito a fazer. Se é sobre a morte de Carasel, já lhe disse tudo o que sei.'
'É a respeito da morte de Carasel, mas não tratarei do assunto agora. Não aqui. Vá até a cela de Zephkiel: ele está à sua espera. Eu os encontrarei lá.'
Ele parecia prestes a dizer algo, mas apenas assentiu com a cabeça, e caminhou em direção à porta.
Voltei-me para partir quando algo me ocorreu. Parei o anjo que tinha o Verde.
'Diga-me uma coisa.'
'Se eu puder, senhor'
'Essa coisa', apontei para o universo, 'para que servirá?'
'Para quê?. Ora, é o Universo.'
'O nome, eu já sei, mas qual o seu propósito?'
Ele franziu a testa.
'Faz parte do plano. O Nome assim deseja. Ele requer isto e aquilo, nestas e naquelas dimensões e com tais e quais propriedades e ingredientes. É nossa função promover sua existência, de acordo com Seus desígnios. Com certeza, Ele sabe a função, mas não a revelou a mim.' Seu tom de voz era de uma repreensão gentil.
Assenti com a cabeça e deixei o local.
Bem no alto, acima da Cidade, uma falange de anjos rodopiava, circulava e mergulhava. Cada um empunhava uma espada flamejante que deixava um rastro de ardente resplendor, deslumbrante aos olhos. Moviam-se em uníssono pelo céu rosa-salmão. Eram muito bonitos. Sabe nas noites de verão, quando bandos de pássaros executam suas danças no céu? Entrelaçando-se, circulando, unindo-se e separando-se novamente, então, quando você pensa que entendeu o padrão, percebe que não entendeu e que nunca entenderá? Era desse jeito, mas melhor.
Acima de mim estava o céu. Abaixo, a Cidade fulgurante. Meu lar. E além dela, as Trevas.
Lúcifer flutuava um pouco abaixo da Hoste, assistindo às suas manobras.
'Lúcifer?'
'Sim, Raguel? Descobriu o malfeitor?'
'Acho que sim. Quer me acompanhar até a cela de Zephkieí? Há outros à nossa espera lá e eu explicarei tudo.'
Ele fez uma pausa. Então:
'Certamente.’
Ergueu sua face perfeita aos anjos que executavam uma lenta revolução no céu, cada um se movendo pelo ar em ritmo perfeito com o próximo. Nenhum deles jamais se tocava.
'Azazel!'
Um anjo deixou o círculo, os demais ajustaram-se quase imperceptivelmente à sua ausência, preenchendo o espaço, de forma que jamais se poderia dizer onde ele havia estado.
'Tenho de sair. Você está no comando, Azazel. Mantenha todos em exercício. Ainda há muito o que se aperfeiçoar!
'Sim, senhor.'
Azazel pairou onde Lúcifer estivera, fitando a revoada de anjos. Lúcifer e eu descemos rumo à Cidade.
'Para que você os treina?'
'Guerra.'
'Contra quem?'
'Como assim?'
'Contra quem vocês vão lutar? Quem mais está lá?'
Ele olhou para mim, seus olhos estavam claros e honestos.
'Não sei ao certo, mas Ele nos Nomeou para sermos Seu exército. Entãu, seremos perfeitos. Por Ele. O Nome é infalível, todo imparcial e todo sábio, Raguel. Haja o que houver, não pode ser de outra...'
Ele se interrompeu e desviou o olhar.
'Você estava para dizer?'
'Nada de importante.'
Nós não falamos mais pelo resto da descida até a cela de Zephkiel.
Olhei no meu relógio, eram quase três. Uma hrisa congelante começara a soprar na rua de Los Angeles e senti um calafrio. O homem percebeu, fez uma pausa em sua história.
— Você está bem? — perguntou ele.
— Estou. Por favor, continue. Estou fascinado.
Ele assentiu com a cabeça.
— Estavam esperando por nós na cela de Zephkiel: Phanuel, Saraquael e Zephkiel. Este estava sentado em sua cadeira. Lúcifer tomou posição ao lado da janela.
Andei até o centro da sala e comecei.
'Agradeço a todos por estarem aqui. Vocês sabem quem sou; conhecem minha função. Sou a Vingança do Nome, o braço do Senhor. Sou Raguel.
O anjo Carasel está morto. Foi-me incumbida a tarefa de descobrir por que foi morto e quem o matou. Foi o que fiz. O anjo Carasel foi um projetista do Salão da Existência. Era muito bom pelo que me disseram...
Lúcifer. Diga-me o que estava fazendo antes de chegar a Phanuel e ao corpo.'
'Já disse. Estava caminhando.'
'Onde você estava caminhando?'
'Não vejo por que isso seria de sua conta.'
'Diga-me.'
Ele fez uma pausa. Era mais alto do que qualquer um de nós, alto e orgulhoso.
'Muito bem. Eu estava andando pelas Trevas. Tenho caminhado pelas Trevas faz algum tempo. Isso me ajuda a ter uma perspectiva da Cidade — por estar fora. Vejo como é justa, como é perfeita. Não existe nada mais encantador do que o nosso lar. Nada mais completo. Nenhum lugar onde alguém jamais gostaria de estar.'
'E o que você faz nas Trevas, Lúcifer?'
Ele me fitou.
'Eu caminho. E... há vozes nas Trevas. Eu as ouço. Elas me prometem coisas, fazem perguntas, sussurram e suplicam. Eu as ignoro. Fortaleço-me mais e fito a Cidade. É a única maneira que tenho para me testar: colocar-me perante qualquer tipo de provação. Sou o Capilão da Hoste; sou o primeiro entre os Anjos e devo pôr-me à prova.'
Assenti com a cabeça.
'Por que não me disse isso antes?’
Ele olhou para baixo.
'Porque sou o único anjo que caminha pelas Trevas. Porque não quero que outros vagueiem por lá: sou forte o suficiente para desafiar as vozes, para me testar. Os outros não são tão fortes. Os demais podem pisar em falso ou cair.'
'Obrigado, Lúcifer. Por ora, é tudo'
Voltei-me para o próximo anjo.
'Phanuel há quanto tempo você leva crédito pelo trabalho de Carasel?’
Ele abriu a boca, mas não emitiu som algum.
'Responda!'
'Eu... Eu não assumiria o crédito pelo trabalho de outro.'
'Mas você fez isso com o Amor?'
Ele piscou.
'Sim, fiz mesmo.'
'Importa-se de nos explicar o que é o Amor?'
Ele olhou ao redor com certo desconforto.
'É um sentimento de profunda afeição e atração por outro ser, freqüentemente combinado com paixão ou desejo — uma necessidade de estar com o outro.'
Falou de forma seca e didática como se estivesse recitando uma fórmula matemática.
'O sentimento que temos pelo Nome, nosso Criador, isso é o Amor... entre outras coisas. O Amor será um impulso que inspirará e arruinará na mesma medida. Nós estamos...' Ele fez uma pausa, então começou a falar mais uma vez. 'Nós estamos muito orgulhosos.'
Ele estava proferindo as palavras. Não parecia mais ter qualquer esperança de que acreditássemos nelas.
‘Quem fez a maior parte do trabalho do Amor? Não, não responda. Deixe-me perguntar aos outros primeiro. Zephkiel? Quando Phanuel passou-lhe os detalhes sobre o Amor para sua aprovação, quem foi que ele disse ser responsável pelo trabalho?’
O anjo sem asas sorriu gentilmente.
'Ele me disse que o projeto era seu,'
'Obrigado, senhor. Agora, Saraquael: de quem era o Amor?’
'Meu. Meu e de Carasel. Talvez mais dele do que meu, mas nós trabalhamos juntos nisso.'
‘Você sabia que Phanuel estava reclamando crédito por ele?'
'... Sim.'
'E você permitiu?'
'Ele... ele prometeu que nos daria um bom projeto para realizarmos. Prometeu que, se nós não disséssemos nada, receberíamos projetos ainda maiores... e cumpriu com sua palavra. Ele nos deu a Morte.'
Voltei-me para Phanuel.
'Bem?'
'É verdade. Eu reivindiquei o Amor como meu.'
'Mas era de Carasel. E de Saraquael.'
'Sim.'
'O último projeto dos dois... antes da Morte?'
'Sim.'
'Isso é tudo.'
Caminhei até a janela, olhei para as torres prateadas, contemplei as Trevas e comecei a falar.
'Carasel era um projetista notável. Se tinha uma falha, esta era a de se atirar muito profundamente no trabalho.' Voltei-me a eles. O anjo Saraquael tinha calafrios, e luzes tremeluziam sob sua pele. 'Saraquael? Quem Carasel amava? Quem foi seu amante?'
Ele fitou o chão. Então, olhou para cima, tomado de um orgulho agressivo. E sorriu.
'Eu.'
'Quer me falar a respeito?'
'Não.' Deu de ombros. 'Mas suponho que deva. Que assim seja. Nós trabalhávamos juntos. E, quando começamos a trabalhar no Amor... nós nos tornamos amantes. Foi idéia dele. Nós íamos à sua cela sempre que conseguíamos um breve intervalo. Lá, nós nos tocávamos, nos abraçávamos, sussurrávamos palavras carinhosas e afirmações de eterna devoção. Seu bem-estar era mais importante do que o meu. Eu existia para ele. Quando estava só, repetia seu nome para mim mesmo e não pensava em nada mais a não ser nele. Quando estava com ele...'
Fez uma pausa. Olhou para baixo.
'Nada mais importava.'
Caminhei até onde Saraquae! estava, ergui seu queixo com minha mão, fitei seus olhos cinzentos.
'Então por que você o matou?'
'Porque ele não me amava mais. Quando começamos a trabalhar na Morte ele... ele perdeu o interesse. Não era mais meu. Pertencia à Morte. E, se eu não poderia tê-lo, então, seu novo amante o acolheria. Eu não podia suportar sua presença... nem tolerar tê-lo tão perto e saber que não sentia nada por mim. Era isso o mais sofrido. Pensei... tinha esperanças... de que, se desaparecesse, eu não me importaria mais com ele, que a dor cessaria.
Então, eu o matei. Apunhalei-o e joguei seu corpo de nossa janela no Salão da Existência. Mas a dor não cessou.' Sua voz era quase um lamento.
Saraquael levantou-se e tirou minha mão de seu queixo.
'E agora?'
Senti meu aspecto começar a me tomar; senti minha função possuir-me. Eu já não era mais um indivíduo — era a Vingança do Senhor.
Movi-me para perto de Saraquael e o abracei. Pressionei meus lábios contra os de!e, forcei minha língua dentro de sua boca. Nós nos beijamos. Ele cerrou os olhos.
Senti brotar dentro de mim uma incandescência, um brilho. Do canto de meus olhos, pude ver Lúcifer e Phanuel desviando seus rostos da minha luz e sentir Zephkiel fitando-me. Minha luz tornou-se cada vez mais clara até que irrompeu... de meus olhos, de meu peito, de meus dedos, de meus lábios: um fogo branco cauterizante.
As chamas alvas consumiram Saraquael lentamente, e ele se agarrou a mim enquanto ardia.
Logo não restava mais nada dele. Absolutamente nada.
Senti a chama me deixar. Então, voltei a mim mesmo uma vez mais.
Phanuel soluçava. Lúcifer estava pálido. Zephkiel sentado em sua cadeira olhava-me silencioso. Voltei-me para Phanuel e Lúcifer,
'Vocês testemunharam a Vingança do Senhor', disse-lhes. 'Que seja um alerta para ambos.'
Phanuel assentiu com a cabeça.
'E foi. Oh, isso foi. Eu... Eu vou tomar meu rumo, senhor. Retornarei ao posto que me foi designado. Se estiver do seu agrado.'
'Vá.'
Trôpego, ele caminhou até a janela e saltou para a luz, suas asas batiam enfurecidas.
Lúcifer aproximou-se do local em que Saraquael estivera. Ajoelhou-se, fitou com desespero o chão como se tentasse encontrar algum resto do anjo que eu havia destruído, um fragmento de cinza, um osso ou uma pena chamuscada, mas não havia nada para se encontrar. Então, ergueu os olhos para mim.
'Isso não é certo’, disse. 'Não é justo.' Ele chorava; lágrimas grossas corriam pelo seu rosto. Talvez Saraquael tenha sido o primeiro a amar, mas Lúcifer foi o primeiro a derramar lágrimas. Nunca me esquecerei disso.
Fitei-o impassivo.
'Isto foi justiça. Ele matou outro ser. Foi morto por sua vez. Você me chamou para minha função, e eu a desempenhei.'
'Mas... ele amava. Deveria ter sido perdoado. Deveria ter sido ajudado. Não deveria ter sido destruído dessa forma. Isso é errado.'
'Foi a vontade Dele.'
Lúcifer parou.
'Pois, então, a vontade Dele é injusta. Talvez, afinal de contas, as vozes das Trevas digam a verdade. Como isso pode estar certo?’
'Está certo. É a vontade Dele. Eu simplesmente desempenhei minha função.'
O belo anjo enxugou as lágrimas com o dorso da mão.
'Não.' Disse categoricamente. Fez uma lenta negativa com a cabeça, de lado a lado. Então, disse: 'Devo pensar sobre isso. Irei agora'
Andou até a janela, deu um passo em direção ao céu e partiu. Zephkiel e eu estávamos a sós na cela. Fui até sua poltrona. Ele meneou a cabeça afirmativamente.
'Você exerceu bem sua função, Raguel. Não deveria voltar a sua cela e aguardar até que se faça necessário novamente?'
O homem no banco virou-se para mim: seus olhos procuraram os meus. Até agora parecia, na maior parte de sua narrativa, que mal me notava, fitava adiante, sussurrando seu conto num tom beirando a monotonia. Agora parecia haver-me descoberto. Falava agora só comigo e não ao léu ou à Cidade de Los Angeles. Então, disse:
— Eu sabia que ele estava certo, mas não poderia partir naquele momento, mesmo que quisesse. Meu aspecto não havia me deixado inteiramente, minha função não estava concluída. Então, tudo se encaixou; vi o quadro inteiro como um todo. Tal qual Lúcifer, ajoelhei-me. Levei minha testa ao chão de prata.
'Não, Senhor. Ainda não.'
Zephkiel levantou-se da poltrona.
'Levante-se. Não fica bem um anjo agir deste modo diante de outro. Não é correto. Levante-se!'
Fiz que não com a cabeça. 'Pai, o Senhor não é um anjo', sussurrei.
Zephkiel nada respondeu. Por um momento, meu coração ficou apreensivo. Tive medo.
‘Pai, fui incumbido de descobrir o responsável pela morte de Carasel. Agora sei.'
‘Você teve a sua Vingança, Raguel.'
'A Sua Vingança, Senhor.'
Então, suspirou e se sentou novamente.
'Ah, pequeno Raguel. O problema de se criar coisas é que elas funcionam melhor do que se havia planejado. Posso indagar como me reconheceu?'
'Eu... Eu não tenho certeza. O Senhor não tem asas. Permanece no centro da Cidade, supervisionando diretamente a Criação. Quando destruí Saraquael, não desviou o olhar. Sabe de muitas coisas. O Senhor...' Fiz uma pausa e pensei. 'Não, de fato, não sei como sei. Como disse, o Senhor me criou bem. Mas só compreendi quem o Senhor era e o significado desse drama que atuamos em seu Nome quando Lúcifer partiu.'
'O que você compreendeu, minha criança?'
'Quem matou Carasel. Ou, ao menos, quem manipulava as cordas. Por exemplo, quem arranjou para que Carasel e Saraquael trabalhassem juntos no Amor, sabendo das tendências de Carasel em se envolver profundamente com o trabalho?'
Ele falava comigo suavemente, quase zombeteiro, como se um adulto fingisse conversar a sério com uma criancinha.
'E por que alguém manipularia as cordas, Raguel?'
'Porque nada ocorre sem razão, e todas as razões são Suas. O Senhor controlou Saraquael. É verdade. Ele matou Carasel mas cometeu esse crime para que eu pudesse destruí-lo.'
'E você errou em destruí-lo?'
Eu fitei Seus olhos muito, muito velhos. 'Esta é minha função, mas realmente não achei justo. Acho que talvez isso fosse necessário — destruir Saraquael de forma a mostrar a Lúcifer a Injustiça do Senhor.'
Então, Ele sorriu. 'Qual motivo teria eu para fazer isso?'
'Eu... eu realmente não sei. Realmente não compreendo, não mais do que entendo porque o Senhor criou as Trevas e as Vozes das Trevas. Mas o Senhor o fez. E levou tudo a acontecer.'
Ele assentiu com a cabeça. 'Sim. Tem razão. Lúcifer terá de remoer a injustiça da destruição de Saraquael. Isto, entre outras coisas, deve incitá-lo a certas ações. Pobre e doce Lúcifer. Seu caminho será o mais difícil de todos os meus filhos; pois existe uma função que desempenhará no drama que está por vir, e é um grande papel!’
Permaneci ajoelhado diante do Criador de Todas as Coisas.
'O que fará agora, Raguel?’, indagou-me.
'Devo retornar à minha cela, Minha função foi cumprida. Levei a Vingança e revelei o perpetrador. Isso é o suficiente. Mas... Senhor... ?'
'Sim, minha criança.'
'Eu me sinto sujo. Sinto-me imundo. Maculado. Talvez seja verdade que tudo o que acontece está de acordo com a Sua vontade e, portanto, é bom. No entanto, em algumas ocasiões, o Senhor deixa sangue nos seus instrumentos.’
Ele meneou a cabeça afirmativamente, como se concordasse comigo.
'Se desejar, Raguel, poderá esquecer tudo. Refiro-me ao que aconteceu neste dia.' Então, disse: 'Entretanto, não poderá falar a respeito com qualquer outro anjo, quer opte por lembrar ou não.’
'Eu me lembrarei.’
‘A decisão é sua, mas haverá ocasiões em que você julgará mais fácil não se lembrar. O esquecimento, algumas vezes, concede, de certa forma, a liberdade.’
'Agora, se não se importa', Ele se curvou, tomou um arquivo de uma pilha no chão e abriu, 'tenho trabalho a fazer.’
Levantei-me e caminhei até a janela. Tive esperança de que Ele me chamasse de volta, explicasse todos os detalhes de Seu plano e, de alguma forma, fizesse a dor passar. Mas não. Ele não disse nada, e eu deixei Sua Presença sem olhar para trás.
O homem estava quieto, agora. E permaneceu em silêncio — eu não podia nem ao menos ouvir sua respiração —, por tanto tempo que comecei a ficar nervoso, pensando que talvez tivesse adormecido ou morrido. Então, levantou-se,
— E é isso aí, amigo. Esta foi a sua história. Acha que vale dois cigarros e uma carteia de fósforos? — fez a pergunta como se, sem ironia, realmente importasse.
— Claro — respondi. — Vale, sim. Mas o que aconteceu depois? Como você... quer dizer... — e, então, me calei.
Estava escuro na rua, à beira do amanhecer. Uma a uma, as lâmpadas de iluminação da rua começaram a tremeluzir, e ele tinha sua silhueta desenhada contra o brilho da aurora. Enfiou suas mãos nos bolsos.
— O que aconteceu? Saí de casa, perdi-me, e hoje em dia o lar está muito distante. Às vezes, a gente faz coisas de que se arrepende, mas não se pode fazer nada a respeito. Os tempos mudam. Portas se fecham. A gente prossegue. Entende? Por fim, acabei aqui. Outrora, diziam que ninguém era originalmente de Los Angeles. No meu caso, é a mais pura verdade.
Então, antes que eu pudesse compreender o que ele estava fazendo aproximou-se de mim e me beijou, com delicadeza, na face. Sua barba por fazer alfinetava, mas seu hálito era surpreendentemente doce. Sussurrou em meu ouvido:
— Eu jamais caí. Não me importa o que digam. Ainda estou fazendo meu trabalho pelo que eu entendo.
Minha face ardeu onde ele encostou os lábios. Pôs-se, então, de pé.
— Mas ainda quero ir para casa.
O homem afastou-se pela rua escura, sentei no banco e o observei partir. Senti-me como se ele tivesse tirado algo de mim, embora não pudesse mais lembrar o quê. E sentia que algo havia sido deixado no lugar — absolvição, talvez, ou inocência, embora eu não possa mais dizer absolvição de quê.
Uma imagem de algum lugar: desenhos feitos com rabiscos de dois anjos em pleno vôo sobre uma cidade perfeita; e, sobre a imagem, a impressão perfeita da mão de uma criança, que mancha um papel alvo de vermelho-sangue. Isso veio à minha mente de modo irrestrito, e eu não sei mais o que significa.
Levantei-me.
Estava muito escuro para ver o meu relógio, mas eu sabia que não dormiria aquele dia. Caminhei de volta ao lugar onde estava hospedado, até a casa da palmeira atrofiada, para me lavar e esperar. Pensava em anjos e em Tink; pensava se amor e morte andam de mãos dadas.
No dia seguinte, os aviões para a Inglaterra estavam voando novamente.
Senti-me estranho. A falta de sono havia me arrastado àquele lastimável estado no qual tudo parece esmaecido e de igual valor, quando nada importa e a realidade apresenta-se tênue e puída. A viagem de táxi até o aeroporto foi um pesadelo. Eu estava com calor, cansado e incomodado. Vestia uma camiseta no calor de Los Angeles; meu casaco estava no fundo da bagagem, onde havia permanecido durante toda a minha estadia.
O avião estava cheio, mas nem percebi.
A aeromoça andava pelo corredor com um carrinho de jornais: o Herald Tribune, USA Today e o L.A. Times. Peguei um exemplar do Times, mas as palavras deixavam minha mente assim que meus olhos as abandonavam. Nada do que eu lia era retido. Não, eu minto. Em algum canto do jornal, havia a reportagem de um triplo assassinato: duas mulheres e uma criança pequena. Nenhum nome foi dado e não sei por que o artigo registrara o fato daquela maneira.
Logo adormeci. Sonhei que estava trepando com Tink, enquanto sangue escorria lentamente de seus olhos e lábios fechados. O sangue era frio e viscoso. Acordei com muito frio por causa do ar-condicionado do avião, tomado por um gosto desagradável na boca. Minha língua e lábios estavam secos. Olhei para fora da janela oval, fitei as nuvens e me ocorreu, então (não pela primeira vez), que as nuvens eram, na realidade, outro território, onde todos sabiam bem o que estavam procurando e como retornar ao lugar de onde vieram.
Fitar as nuvens é uma das coisas de que mais gosto quando vôo. Isto e a proximidade que se sente da morte.
Enrolei-me num cobertor e dormi um pouco mais, mas, se tive outros sonhos, não deixaram impressão alguma.
Uma nevasca caiu pouco depois que o avião pousou na Inglaterra, cortando o fornecimento de energia elétrica do aeroporto. Eu estava só num elevador, que escureceu e emperrou entre dois andares. Uma luz de emergência fraca tremeluziu. Pressionei o botão de alarme vermelho até que a bateria arriou e parou de soar. Tremi de frio, então, só com minha camiseta de Los Angeles, no canto da minha pequena sala prateada. Assisti à minha respiração formar vapor no ar e me abracei a fim de me aquecer.
Não havia nada ali além de mim, mas ainda assim, senti-me seguro e a salvo. Em breve, alguém apareceria e forçaria as portas. Por fim, alguém me permitiria sair; e eu sabia que logo estaria em casa.
NEVE, VIDRO E MAÇÃS
Eu realmente não sei que tipo de coisa ela é. Nenhum de nós sabe. Ela matou sua mãe no parto, mas isto não dá conta de descrevê-la.
Todos me consideram sábia, mas estou longe de corresponder a este perfil, apesar dos fragmentos que previ, dos momentos congelados em poças d'água ou no vidro frio do meu espelho. Se eu fosse sábia, não teria tentado alterar o que vi. Se fosse sábia, teria me matado antes mesmo de tê-la encontrado, antes mesmo de tê-lo atraído.
Sábia e feiticeira, era o que diziam. Eu havia visto sua face em sonhos e reflexos durante toda a minha vida: dezesseis anos sonhando com sua imagem antes de ele deter o passo de seu cavalo junto à ponte naquela manhã e perguntar meu nome. Ele me ajudou a subir em seu grande garanhão, e juntos cavalgamos até minha pequena choupana, meu rosto enterrado no dourado de seus cabelos. Ele pediu o melhor que eu tinha a oferecer; era o direito de um rei.
Sua barba era vermelho-bronze à luz da manhã, e eu o conhecia, não como um rei, pois nada sabia de reis então, mas como meu amor. Ele tomou tudo que quis de mim, o direito dos reis, mas voltou a mim no dia seguinte e na noite posterior: a barba tão vermelha, os cabelos tão dourados, os olhos do azul do céu de verão, a pele bronzeada do suave marrom do trigo maduro.
Sua filha era apenas uma criança: não mais do que cinco anos de idade quando cheguei ao palácio. O retrato da mãe morta pendia no quarto da princesa na torre: uma mulher alta, cabelos da escura cor da madeira, olhos castanhos amendoados. Ela era de uma estirpe diferente da de sua pálida filha.
A menina não comia conosco.
Eu não sei realmente onde ela comia.
Eu possuía meus próprios aposentos. Meu marido, o rei, também tinha os seus. Quando me desejava, mandava-me chamar. Eu ia a ele, e o satisfazia, e ele me satisfazia em troca.
Uma noite, vários meses após eu ter chegado ao palácio, ela veio aos meus aposentos. Tinha seis anos. Eu estava bordando perto da lamparina, forçando meus olhos contra a fumaça da lâmpada e da iluminação intermitente.
Quando ergui a cabeça, lá estava ela.
— Princesa?
Ela nada respondeu. Seus olhos eram negros como carvão, negros como seus cabelos; os lábios eram mais vermelhos do que sangue. Olhou para mim e sorriu. Seus dentes pareciam afiados, mesmo à luz dos lampiões.
— O que você está fazendo longe de seu quarto?
— Eu estou com fome — disse, como qualquer criança.
Era inverno, quando comida fresca é um sonho de calor e luz do sol, mas eu tinha meadas de maçãs inteiras, descaroçadas e secas, pendendo das vigas de meu aposento; apanhei uma para ela.
— Tome.
O outono é tempo de seca, de preservar, uma época de apanhar maçãs, derreter a gordura de ganso. O inverno é tempo de fome, de neve e de morte; e é a época da celebração de meados do inverno, quando esfregamos a banha de ganso na pele de um porco inteiro, forrado com as maçãs do outono, e, então, o assamos, no forno ou em espetos, e preparamo-nos para banquetear juntos ao crepitar das chamas.
Ela tomou a maçã seca de minhas mãos e se pôs a mastigá-la com seus dentes amarelos e afiados.
— Está gostoso?
Ela assentiu com a cabeça. Sempre tive medo da pequena princesa, mas, naquele momento, senti afeição por ela e, com meus dedos, gentilmente, toquei-lhe as faces. Ela olhou para mim e sorriu — ela sorria, mas raramente — então, afundou seus dentes na base de meu polegar, no Monte de Vênus, e arrancou sangue.
Comecei a gritar de dor e de surpresa. Todavia, ela olhou para mim e me calei.
A pequena princesa firmou sua boca em minha mão e, então, lambeu, sugou e bebeu. Quando terminou, deixou meu aposento. Ante meu olhar, o corte que ela fizera começou a se fechar, formar casca e cicatrizar. No dia seguinte, já era uma antiga cicatriz: podia ter cortado minha mão com um canivete na infância.
Eu havia sido congelada por ela, possuída e dominada. Aquilo me aterrorizou, mais do que o sangue de que a menina havia se alimentado. Após aquela noite, eu trancava a porta de meus aposentos ao entardecer, obstruindo-a com um mastro de carvalho. Ordenei, também, ao ferreiro que forjasse barras de ferro, que ele fixou em minhas janelas.
Meu marido, meu amor, meu rei, convocava-me cada vez menos, e, quando eu comparecia, ele estava aturdido, apático e confuso. Já não podia mais fazer amor como um homem e não me permitia satisfazê-lo com a boca: a única vez que tentei, ele se sobressaltou violentamente e pôs-se a chorar. Afastei minha boca e o abracei com firmeza até que tivesse parado de soluçar. Então, ele adormeceu como uma criança.
Corri meus dedos por sua pele enquanto dormia. Ela estava coberta por uma infinidade de antigas cicatrizes. No entanto, eu não podia me lembrar de nenhuma delas desde os dias em que me fez a corte, salvo uma, nos flancos, onde um javali o ferira ainda jovem.
Logo, tornou-se a sombra do homem que eu conhecera e amara junto à ponte. Seus ossos agora estavam à mostra, azuis e brancos, por baixo da pele. Eu permaneci ao seu lado no fim: suas mãos frias como pedra, seus olhos azul-leitosos, seus cabelos e barba escassos e sem lustro. Morreu sem tremer, sua pele mordiscada e tomada da cabeça aos pés por pequeninas e antigas cicatrizes.
Ele pesava quase nada. O chão estava congelado e duro. Não pudemos lhe cavar uma sepultura. Então, fizemos um marco com rochas e pedras sobre seu corpo, como um memorial apenas, pois havia muito pouco de seu organismo para proteger da fome das feras e dos pássaros.
Então, eu me tornei rainha.
E eu era tão tola e jovem — dezoito primaveras haviam se passado desde a primeira vez que o sol me banhou — e não fiz o que faria agora.
Se fosse hoje, faria com que o coração dela fosse arrancado, acredite. Mas depois ordenaria que decepassem sua cabeça, braços e pernas.
Teria exigido que a estripassem. Só então, assistiria, em praça pública, ao carrasco atiçar as chamas com fole, a fim de acompanhar sem piscar cada porção de seu corpo arder no fogo. Ainda posicionaria arqueiros ao redor da praça, para que alvejassem qualquer pássaro ou animal que se acercasse das labaredas, qualquer corvo, cachorro, gavião ou rato, E não cerraria meus olhos até que a princesa fosse reduzida a cinzas, e um vento suave a espalhasse como neve.
Eu não fiz isto, e nós pagamos por nossos erros.
Dizem que fui enganada; que aquele não era seu coração. Que era o coração de um animal — um cervo, talvez, ou um javali. Dizem, e estão enganados.
Outros afirmam (mas trata-se de mentira dela, não minha) que me foi dado o coração, e que eu o devorei. Mentiras e meias-verdades precipitam como neve, cobrindo as coisas de que me lembro, aquilo que eu vi; uma paisagem, irreconhecível depois de uma nevasca. Eis o que ela fez de minha vida.
Havia cicatrizes em meu amor, nas coxas de seu pai e no membro viril dele, quando morreu.
Eu não os acompanhei. Ela foi apanhada de dia, enquanto dormia e estava enfraquecida. Levaram-na ao coração da floresta, lá abriram sua blusa, cortaram seu coração e a deixaram morta, num barranco, para que a floresta a tragasse.
A floresta é um lugar sombrio, a fronteira de muitos reinos. Ninguém seria tolo o bastante para reclamar posse sobre ela. Foras-da-lei vivem lá. Ladrões habitam a floresta, bem como os lobos. Pode-se cavalgar através de suas trilhas uma dúzia de dias e, em momento algum, ver vivalma; mas há olhares atentos o tempo todo.
Trouxeram-me seu coração. Sei que lhe pertencia — nenhum coração de porca ou corça continuaria a bater e pulsar após ter sido arrancado, como aquele fazia.
Levei-o até meus aposentos.
Não o comi. Pendurei-o na viga acima de minha cama. Coloquei-o num cordel onde esticava sorvas, alaranjadas como o peito de um estorninho, com bulbos de alho.
Lá fora, a neve caía, cobrindo as pegadas dos meus caçadores, revestindo seu pequenino corpo na floresta onde jazia.
Ordenei ao ferreiro que removesse as barras de ferro das janelas e passei algum tempo no meu quarto nas tardes dos breves dias de inverno, fitando a floresta, até a escuridão cair.
Havia, como declarei, pessoas na floresta. Algumas emergiam de seu seio para a Feira da Primavera: criaturas gananciosas, bravias, perigosas; muitas eram atrofiadas: anões, anãs e corcundas; outras tinham dentes enormes e olhares vazios de idiotas; um tanto portava dedos como barbatanas ou garras de caranguejos. Esgueiravam-se para fora da floresta a cada ano a fim de tomar parte da Feira da Primavera, realizada quando a neve se derretia.
Quando jovem, eu trabalhara na feira, e essa gente da floresta me assustava. Eu lia a sorte dos freqüentadores, contemplando o futuro numa poça de águas tranqüilas; mais tarde, quando mais velha, num disco de vidro polido, de revés inteiramente prateado. Tratava-se do presente de um mercador cujo cavalo extraviado eu vira numa poça de tinta.
Os proprietários das barracas tinham medo da gente da floresta. Pregavam suas mercadorias nas tábuas nuas das suas bancas — grossas fatias de pão de gengibre ou cintos de couro eram afixados com enormes cravos de ferro na madeira. Caso seus produtos não fossem cravados, diziam, as criaturas da floresta tomariam-nos e fugiriam, mastigando o pão de gengibre roubado, protegidos pelos golpes das chibatas.
Entretanto, o povo da floresta tinha dinheiro: uma moeda aqui, outra acolá, algumas esverdeadas pelo tempo ou pela terra, suas efígies desconhecidas até mesmo dos mais velhos de nós. Também traziam coisas para comerciar, e assim a feira continuava, servindo a párias e anões, acolhendo ladrões (caso fossem discretos) dispostos a saquear os raros viajantes das terras além da floresta, os ciganos ou os cervos. (Aos olhos da lei, isto também era roubo. Os cervos pertenciam à rainha.)
Os anos avançaram lentamente, e meu povo afirmava que eu reinava com sabedoria. O coração ainda pendia acima da minha cama, pulsando suavemente à noite. Se houve alguém que chorou pela criança, não vi evidência alguma. Ela era algo de aterrador e todos deram graças por se verem livres da ameaça.
Uma Feira da Primavera seguiu-se à outra; cinco delas, cada uma mais triste, lamentável e de pior qualidade do que a anterior. Cada vez menos habitantes da floresta vinham fazer compras. Aqueles que davam o ar da graça pareciam indiferentes e apáticos. Os feirantes deixaram de pregar suas mercadorias nas tábuas das suas bancas. No quinto ano, um punhado de pessoas emergiu da floresta — uma mixórdia assustada de pequenos homens peludos, e ninguém mais.
O Mestre da Feira e sua pajem vieram a mim quando a feira encerrou-se. Eu o havia conhecido, antes de ser rainha.
— Eu não venho à sua presença por ser rainha — disse ele. Nada falei. Ouvi.
— Venho porque a senhora é sábia — prosseguiu. — Quando criança, encontrou um potro extraviado ao fitar uma poça de tinta; quando donzela, achou uma criança que havia se desgarrado de sua mãe ao contemplar aquele seu espelho. A senhora conhece segredos e pode localizar coisas perdidas. Minha rainha — indagou ele — o que está afugentando o povo da floresta? No próximo ano, não haverá Feira da Primavera. Os viajantes de outros reinos tornaram-se escassos e infreqüentes, a gente da floresta está quase desaparecida. Outro ano como este e todos morreremos de fome.
Eu ordenei à minha criada que trouxesse meu espelho. Era um objeto singelo, um disco de vidro com o fundo prateado, que eu mantinha embrulhado numa pele de corça, dentro do baú, em meus aposentos.
Trouxeram-no a mim, e contemplei seu interior.
Ela tinha agora doze anos e não era mais uma criança. Sua pele ainda era pálida, seus olhos e cabelos carvão-escuro, os lábios vermelho-sangue. Trajava as vestes que tinha quando deixara o palácio pela última vez — a blusa, a saia —, embora estivessem muito puídas e remendadas. Sobre elas, usava um manto de couro e, no lugar das botas, calçava bolsas de couro, amarradas com tiras, em volta de seus pequeninos pés.
Estava em pé na floresta, ao lado de uma árvore.
Enquanto assistia a tudo pelo olho da minha mente, eu a via se esgueirar, saltitar, saracotear e avançar de árvore em árvore, como um animal: um morcego ou um lobo. Estava seguindo alguém.
Era um monge. Vestia um hábito, seus pés estavam descalços, corroídos e duros. Sua barba e tonsura estavam compridas, crescidas e sem cortar.
Ela o observava por detrás das árvores. Finalmente, ele parou para passar a noite e se pôs a acender o fogo, depositando galhos, quebrando um ninho de estorninho como apara de lenha. Possuía uma caixa de pavio em seu manto, então golpeou a pedra de encontro ao aço até que a fagulha atingiu o material inflamável e o fogo se deflagrou. Havia dois ovos no ninho que encontrara, e os comeu crus. Não poderiam constituir uma refeição para um homem tão grande.
Ele se sentou à luz da chama, e ela deixou seu esconderijo. Agachou-se do outro lado do fogo e o fitou. O homem deu um largo sorriso, como se tivesse passado um longo período desde que vira outro ser humano. Chamou-a, então, com um gesto, para si.
Ela se levantou e andou ao redor do fogo. Esperou a um braço de distância. Ele puxou seu manto até encontrar uma moeda, um pequenino vintém de cobre. Arremessou-a para a jovem. Ela a tomou, assentiu com a cabeça e se aproximou. O monge puxou a corda ao redor da cintura, abrindo o manto. Seu corpo era peludo como o de um urso. Ela o empurrou sobre o musgo. Uma mão deslizava como uma aranha pelo emaranhado de pêlos até que se fechou sobre sua masculinidade. A outra traçava um círculo sobre o bico do peito esquerdo. O homem fechou os olhos e tateou desajeitadamente com a mão enorme por debaixo da saia. Ela levou a boca até o mamilo com o qual brincava, sua pele macia e branca roçava o corpo peludo e castanho.
Ela enterrou os dentes no peito volumoso. Ele abriu os olhos, fechou-os novamente e dali ela bebeu.
Escarranchou-se sobre ele, alimentou-se. Enquanto o fazia, um líquido fino e escuro começou a gotejar entre suas pernas...
— A senhora sabe o que impede os viajantes de virem à nossa vila? O que está acontecendo ao povo da floresta? — indagou o Mestre da Feira.
Cobri o espelho com a pele de corça e lhe disse que eu mesma iria me encarregar de mais uma vez tornar a floresta segura.
Eu tinha de fazê-lo, embora isso me aterrorizasse. Afinal, eu era a rainha.
Uma mulher tola teria ido à floresta e tentado capturar a criatura; mas eu já havia sido ingênua uma vez e não desejava sê-lo novamente.
Passei muito tempo em meio a velhos livros. Passei tempo com ciganas (que viajavam por nosso país através das montanhas rumo ao sui, em vez de cruzar a floresta em direção ao norte e ao oeste).
Preparei-me e obtive os objetos de que precisava, e, quando a primeira nevasca principiou a cair, eu estava pronta.
Nua, estava eu, e sozinha na torre mais alta do palácio, um lugar aberto aos céus. O vento resinava meu corpo; arrepios deslizavam pelos meus braços, coxas e seios. Carregava uma bacia de prata e uma cesta na qual colocara uma faca também de prata, um alfinete do mesmo metal, pinças, um manto cinzento e três maçãs verdes.
Eu as depositei e permaneci ali, despida, na torre, humilde perante o céu da noite e do vento. Tivesse algum homem me visto, eu arrancaria seus olhos; mas não havia ninguém para espionar. Nuvens deslizavam pelo firmamento, ocultando e desvelando a lua quarto-minguante.
Tomei a faca e cortei meu braço — uma, duas, três vezes. O sangue gotejou dentro da bacia escarlate, aparentando negro ao luar.
Adicionei o conteúdo do pequeno frasco que pendia ao redor de meu pescoço. Era um pó marrom extraído de ervas secas, da pele de um determinado sapo, e de outras coisas. Ele engrossou o sangue, enquanto o impedia de coagular.
Tomei as três maçãs, uma a uma, e espetei suas cascas gentilmente com meu alfinete de prata. Então, depositei as maçãs dentro da tigela e as deixei repousar ali enquanto os primeiros e pequeninos flocos de neve do ano caíam lentamente sobre minha pele, sobre as maçãs e sobre o sangue.
Quando o alvorecer começou a clarear o céu, cobri-me com meu manto cinzento, peguei as maçãs vermelhas da tigela de prata, uma a uma, pondo-as dentro da minha cesta com as pinças de prata, tomando a precaução de não as tocar. Nada havia restado de meu sangue ou do pó marrom na tigela de prata, nada a não ser um resíduo escuro, como um verdete, no interior.
Enterrei a tigela na terra. Então, lancei um encanto sobre as maçãs (como fiz uma vez, anos antes, junto a uma ponte, lançando um encanto sobre mim mesma), a fim de que fossem, sem sombra de dúvida, as maçãs mais bonitas do mundo; o rubor carmim de suas cascas era da cor quente do sangue fresco.
Vesti o capuz da capa sobre meu rosto, tomei fitas e graciosos ornamentos de cabelo comigo, coloquei-os por cima das maçãs dentro da cesta de junco, e caminhei sozinha para a floresta até chegar à sua morada: um penhasco alto de granito, cercado de profundas cavernas que penetravam na muralha de rocha.
Havia plantas e pedras ao redor da face do penhasco. Eu caminhava silenciosa e suavemente de árvore em árvore sem perturbar qualquer ramo ou folha. Finalmente, encontrei meu esconderijo e aguardei, à espreita.
Após algumas horas, um bando de anões engatinhou para fora da abertura da caverna — feios, disformes, pequenos homens peludos, os velhos habitantes desse território. Agora, raramente são vistos.
O grupo desapareceu na mata, e nenhum deles avistou-me, embora um dos pequeninos tenha parado e urinado contra a rocha onde eu me escondia.
Esperei. Mais nenhum saiu.
Fui até a entrada da caverna e saudei, numa voz velha e rouca.
A cicatriz no meu Monte de Vênus latejou e pulsou à medida que ela vinha em minha direção, emergindo das trevas, nua e solitária.
Tinha treze anos de idade, minha enteada. Nada maculava a alvura de sua pele, salvo uma cicatriz lívida no seio esquerdo, de onde seu coração fora arrancado muito tempo atrás.
A parte interna das coxas estava manchada com uma sujeira úmida e escura.
Ela me fitou, e eu oculta estava sob minha capa. Olhou-me esfomeada.
— Fitas, dona de casa — grasnei. — Graciosas fitas para seus cabelos...
Ela sorriu e me chamou com um gesto. Um puxão; a cicatriz de minha mão me arrastava ao seu encontro. Eu fiz o que havia planejado, mas o fiz mais rapidamente do que imaginara: derrubei a cesta e berrei como a velha mascate desanimada que fingia ser. Então, corri.
Minha capa cinzenta era da cor da floresta, e eu era veloz. Ela não me alcançou.
Retornei ao palácio.
Não vi o que se seguiu. Imaginemos, entretanto, a garota retornando, frustrada e faminta, à sua caverna, deparando-se com minha cesta caída no chão.
O que ela faz?
Gosto de pensar que primeiro brincou com as fitas, amarrou-as nos seus cabelos negros como um corvo e as girou ao redor de seu pescoço ou de sua pequenina cintura.
Então, curiosa, removeu o pano para ver o que mais havia na cesta, e contemplou as maçãs de um vermelho tão vivo.
Evidentemente, exalavam o aroma de pomos frescos; mas também cheiravam a sangue. Ela estava com fome. Eu a imagino apanhando uma fruta, pressionando-a contra as faces, sentindo sua fria maciez de encontro à pele.
Então, abriu a boca e mordeu profundamente...
Assim que cheguei aos meus aposentos, o coração que pendia da viga do teto, com maçãs, presunto e salsichas secas, havia cessado de bater. Dependurado estava, silencioso, sem movimento ou vida. Uma vez mais, senti-me segura.
Naquele inverno, a neve foi alta e profunda. Tardou muito a derreter. Estávamos todos famintos quando da chegada da nova estação.
A Feira de Primavera foi um pouco melhor naquele ano. As pessoas da floresta eram poucas, mas vieram, e havia viajantes das terras além da mata.
Vi os pequenos homens peludos da caverna da floresta comprando e barganhando peças de vidro, pedaços de cristal e nacos de quartzo. Pagaram pelo vidro com moedas de prata — os espólios da pilhagem de minha enteada, não tenho dúvidas. Quando se espalhou o que os anões estavam comprando, a gente da vila correu às suas casas e retornou com cristais da sorte e, em alguns casos, com lâminas de vidro inteiras.
Pensei por um momento em ordenar a execução dos pequenos homens, mas não o fiz. Enquanto o coração pendesse silencioso, imóvel e frio, da viga de meu aposento, eu estaria a salvo. O mesmo poderia ser dito do povo da floresta e, conseqüentemente, da gente da cidade.
Meu vigésimo quinto ano chegou, e minha enteada comera a fruta envenenada dois invernos antes. Foi, então, que o príncipe veio ao meu palácio. Ele era alto, muito alto, com olhos verdes frios e a pele morena dos que habitam além das montanhas.
O rapaz cavalgava em companhia de uma pequena comitiva: grande o suficiente para defendê-lo, pequena o bastante para que outro monarca, no caso eu, por exemplo, não o visse como uma ameaça em potencial.
Eu fui muito pragmática. Pensei numa aliança entre nossas terras, imaginei um reino estendendo-se das florestas até o sul rumo ao mar. Lembrava-me do meu amor barbado de cabelos dourados, morto oito anos antes. À noite, fui ao quarto do príncipe.
Eu não sou inocente, embora meu falecido marido, que outrora fora meu rei, fosse meu verdadeiro amor, não importa o que digam.
De início, o príncipe parecia excitado. Ordenou que eu tirasse minhas vestes, fez com que ficasse diante de uma janela aberta, longe do fogo, até que minha pele eriçasse de tão gelada e fria. Então, pediu-me para deitar de costas, com as mãos cruzadas sobre os seios, meus olhos arregalados, apenas fitando as vigas acima. Disse-me para não me mover, e respirar o menos possível. Implorou-me para que nada falasse. Abriu minhas pernas.
Foi então que me penetrou.
Conforme começou a estocar dentro de mim, senti meu quadril erguer-se, meu corpo parear-se ao seu, atrito após atrito, impulso após impulso. Gemi. Não pude evitar.
Sua masculinidade escorregou para fora de mim. Estendi a mão e a toquei, uma coisa pequenina e resvaladiça.
— Por favor — disse-me suavemente —, você não deve se mover nem falar. Deite-se ali nas pedras, fria e bela.
Eu tentei, mas ele havia perdido toda força que o fizera viril. Pouco tempo depois, deixei os aposentos do príncipe, suas maldições e lágrimas ressoando em meus ouvidos.
Partiu cedo na manhã seguinte, com todos os seus homens, cavalgando em direção à floresta.
Eu imagino seu membro, agora, enquanto cavalgava, um nó de frustração na base da sua virilidade. Imagino seus lábios pálidos comprimidos com firmeza. Imagino, então, sua pequena escolta atravessando a floresta a cavalo, alcançando por fim o túmulo de cristal e vidro da minha enteada. Tão pálida. Tão fria. Nua sob o vidro, pouco mais do que uma menina, e morta.
Na minha fantasia, quase posso sentir a repentina solidez de sua masculinidade dentro de suas vestes, pressinto o desejo ardente que o acometeu então, as orações que murmurou em meio à respiraçã entrecortada, agradecendo a boa ventura. Imagino-o negociando com pequenos homens peludos, oferecendo-lhes ouro e especiarias em troca do adorável corpo sob o túmulo de cristal.
Terão aceito seu ouro espontaneamente? Ou levantaram os olhos para ver seus homens a cavalo, com suas espadas afiadas e lanças, percebendo que não tinham escolha?
Realmente não sei. Eu não estava lá. Não estava vendo no espelho. Só posso imaginar...
Mãos removendo os pedaços de vidro e quartzo de seu corpo gelado. Mãos gentilmente acariciando suas faces gélidas, movendo seus braços frios, regozijando-se por encontrar o cadáver ainda fresco e maleável.
Tê-la-á ele tomado lá, diante de todos? Ou ordenado que a carregassem até um canto recluso antes de possuí-la?
Não sei dizer.
Terá deslocado o naco de maçã de sua garganta? Ou terão seus olhos se aberto conforme ele desferia estocadas dentro de seu corpo? Terá sua boca se escancarado, os lábios se afastado, os dentes amarelos e pontiagudos se fechado no pescoço moreno do rapaz, enquanto o sangue, que é vida, vertia-se pela garganta da maldita, arrastando o pedaço da maçã, que me pertencia, meu veneno?
Imagino; realmente, não sei.
Uma coisa com certeza sei: fui despertada aquela noite por seu coração pulsando e batendo uma vez mais. O sangue salgado gotejou sobre meu rosto. Eu me sentei. Minha mão ardeu e latejou, como se eu tivesse golpeado a base do meu polegar com uma rocha.
Esmurraram a porta. Senti medo, mas eu era a rainha e não podia demonstrar. Abri a porta.
Primeiro, seus homens entraram no meu aposento e se perfilaram ao meu redor, empunhando espadas afiadas e longas lanças.
Então, ele entrou e cuspiu em meu rosto.
Finalmente, ela adentrou meu aposento, como eu o fizera quando era uma rainha recém-coroada e ela, uma criança de seis anos. A menina não havia mudado. Não mesmo.
Ela puxou para baixo o barbante em que pendia seu coração. Tirou as sorvas, uma a uma. Arrancou o bulbo de alho, agora ressecado após tantos anos e, então, tomou seu próprio coração pulsante — uma coisa diminuta, não maior do que o de uma pequena cabra ou ursa — enquanto ele transbordava e bombeava sangue em sua mão.
Suas unhas deviam ser tão afiadas quanto vidro. Com elas, abriu o peito, fazendo-as percorrer a cicatriz púrpura. Seu tórax abriu-se numa fenda, rasgada e destituída de sangue. Lambeu seu coração uma vez enquanto o sangue escorria por seus dedos, e empurrou o órgão para dentro da cavidade.
Eu a vi fazer isto. Vi fechar a carne de seu peito uma vez mais. Vi a cicatriz púrpura começar a se desvanecer.
Seu príncipe pareceu brevemente preocupado, mas, mesmo assim, colocou seu braço ao redor dela. Ambos, então, ficaram lado a lado e esperaram.
A menina continuou gélida e a exuberância da morte permaneceu em seus lábios, e, de forma alguma, o desejo do rapaz diminuíra.
O dois disseram-me que se casariam e certamente seus reinos seriam unidos. Afirmaram que eu estaria presente no dia do casamento.
Está começando a ficar quente.
Disseram coisas ruins a meu respeito para as pessoas. Um pouco de verdade para adicionar sabor ao prato, mas mesclado a muitas mentiras.
Eu fui amarrada e aprisionada em uma pequenina cela de pedra debaixo do palácio e lá permaneci durante todo o outono. Hoje, arrancaram-me da cela. Despiram os trapos que eu vestia e lavaram minha sujeira. Então, rasparam minha cabeça e virilha antes de esfregar minha pele com banha de ganso.
A neve caía enquanto me carregavam — dois homens segurando cada mão, dois outros, cada perna — irremediavelmente exposta e humilhada por entre a multidão invernal. Fui levada a este forno.
Minha enteada assistiu a tudo ao lado de seu príncipe. Ela acompanhou minha indignação e nada disse.
Enquanto me empurravam para dentro, zombando e caçoando da minha desgraça, eu vi um floco de neve pousar sobre sua face, e lá permanecer sem se derreter.
Eles selaram a porta do forno em seguida. Está ficando mais quente aqui. Lá fora, cantam e dão vivas, batendo nas laterais.
Ela não estava rindo, zombando ou falando. De forma alguma escarneceu de mim ou desviou o olhar. Na verdade, encarou-me o tempo todo; e, por um momento, eu me vi refletida em seus olhos.
Eu não gritarei. Não lhes darei esta satisfação. Terão meu corpo, mas minha alma e minha história a mim pertencem, e comigo morrerão.
A banha de ganso começa a derreter e brilhar sobre minha pele. Não devo emitir um só pio. Não devo pensar mais nisto.
Na verdade, pensarei no floco de neve em sua face.
Penso em seus cabelos negros como carvão, seus lábios, rubros como sangue, sua pele branca de neve.
Neil Gamain
[1] As corujas devoram suas vítimas por inteiro: pele, ossos, dentes etc. e depois vomitam uma pelota com o conteúdo não-digerível. (N. da T.)
[2] Espécie de brinquedo musical. (N. daT.)
[3] Outra tradução é aqui poisível, resultando em interpretação diferente:
As dificuldades se acumulam.
O cavalo e a carroça mudam de direção.
Se o malfeitor não estivesse lá,
o pretendente viria.
A donzela é fiel, ela não se compromete.
Dez anos e então ela se compromete.
[4] Quando, no decorrer da luta da vida, o homem chega a um ponto em que não avança, um suspiro escapa de seu peito — como naquele famoso trecho da Sinfonia em Dó menor de Beethoven, — essa situação não deve perdurar. Ele deve atrelar os cavalos de seu pensamento positivo, uma vez mais, e conduzir a luta até o fim.
"Aquele que nunca descansa,
aquele cujo pensamento almeja de
corpo e alma ao impossível,
esse é o vencedor."
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















