



Biblio VT




Gaibéus tem a sua história.
Banal talvez, às vezes ingénua, noutras sábia ou astuta, dramática também, mais do que tudo dramática, mas que enfeixa nas suas múltiplas faces desiguais a marca de um tempo exacto, vivido e sonhado em plena juventude, na companhia de muitos homens que tiveram a coragem de optar pelo caminho mais árduo.
Alguns acharam a morte nessa ousadia, muitos o cativeiro, bem poucos a ignomínia, quase todos a razão maior para se construírem numa vida coerente e sacrificada.
... E de malogros também, acentuarão quantos esqueceram ou ignoram as coordenadas dessa época em que o mel e o fel andaram tão juntos.
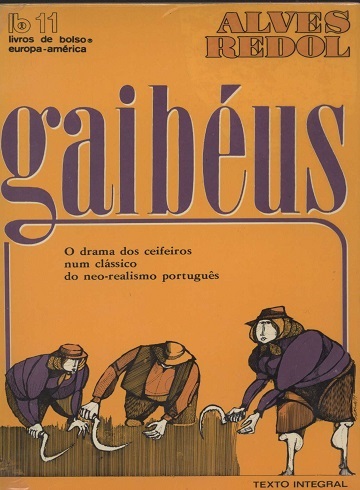
RANCHO
Ia já para três dias que o tractor parara e a regadeira não via pinga de água trasfegada do Tejo.
O arrozeiro, apertado pelo patrão, andava numa dobadoura, por marachas e linhas, a deitar olho aos canteiros de espiga mais loira, fazendo piques, agora aqui, agora ali, para que as águas fossem caminhando para a vala de esgoto e os ranchos pudessem meter foices no arrozal.
De pá ao alto, descansada no ombro, o «seu Arriques» já pensava na volta a casa, pois da sangria à recolha do bago poucas semanas iam.
‑ Que rica seara! Andei‑me nela que nem sombra atrás d'alma penada, mas o patrão arrinca para cima de quarenta sementes. Se os outros a pudessem comer côa inveja...
E lançava a vista sobre o manto de panículas aloiradas, que os camalhões percintavam e a aragem branda enrugava, como mareta em oceano de oiro.
Mais além e aqui, uma mancha ou outra de verde a denunciar o cromo que o sol lhe arrancava, indício de algum cabeço que as enxadas, no armar da terra, não haviam derrubado.
‑ S'o patrão não andasse de fogo no rabo por mor do rancho, seis dias de molho davam‑lhe uns saquitos bem bons. Assim... ainda adrega uma seara como por aqui não há outra.
Andava por oito meses que corria aqueles combros de alto a baixo. Primeiro, de bandeirolas a tirar miras para o erguer das travessas e a mandar homens na rebaixa, até os tabuleiros poderem receber uma lâmina de água para a sementeira; depois, a dirigir aquele caudal que todos os dias entrava Lezíria dentro, pela regadeira mestra, não fossem afogar‑se os pés de arroz ou morrer alguns por míngua.
Quantas noites não pregara olho a traçar planos para os canteiros da ponta de baixo que pareciam avessos a receber frescura? Então, erguia‑se da esteira para percorrer o arrozal, levando as estrelas por camaradas mais a endecha da água e o zangarreio das rãs.
De quando em quando, o desânimo vencia‑o ‑ o desânimo e as sezões.
Se a terra fosse sua, quantas vezes se deixaria ficar na poisada a refazer o corpo. Mas se não andasse, quem havia de cuidar daquilo?...
Nunca patrão algum lhe atirara remoque por desmazelo no trabalho. Ele pertencia à família dos Milhanos de Marinhais, sempre famosos no Ribatejo como arrozeiros sabidos e safos de mandria.
E lá ia, que remédio!, de balde ao ombro, a espreitar alguma maracha que precisasse de engravatada, por oscilação das terras, ou canteiro mais soberbo por desequilíbrio da gleba. Bem regara aquela maldita com o seu suor; longas horas de repouso tinha perdido à sua volta. Mas também a alegria de ver todo o arrozal farto de espigas o dava por bem pago no fim do contrato.
Cada partícula era um monco de peru cheiinho de bago graúdo e loiro.
A milha, rapineira de energia dos arrozais, pouco lá entrara; a branca só invadira um ou outro pé; e o limo e a sarna tinham ficado cá por baixo, a enfeitar a água, e a verem crescer a sua seara; sua, pois então: ninguém lhe dera tanta canseira e apaparicos.
‑ Se os outros pudessem comê‑la côa inveja...
Agora já estava na sangria e só faltava os ranchos saltarem‑lhe para dentro.
O rangido de um carro e os brados de um maioral fizeram‑lhe volver os olhos.
‑ Quiá!... Quíá, Marujo'.....
Era um singel da casa, cheio até ao coruto dos taipais, com sacos e baús dos gaibéus.
Já se ouvia a gralhada do rancho, encoberto com o valado.
Fincou a pá num calhote de dividir as águas e ficou‑se à espreita, enrolando um cigarro.
Por cima do valado do rio, uma vela vermelha trapejava no mastro, pela manobra de um bordo.
‑ Quiá!... Quiá, Marujo'...
Logo apareceram os primeiros ceifeiros, a passo estugado. O grupo cindiu‑se. Uns continuaram a marcha, carril adiante, afeitos ao ambiente daquela emposta, em granjeios e segas; outros ficaram‑se a mover a cabeça e a olhar à volta, estranhos à imensidão da Lezíria, que se desdobra até ao infinito, numa chã retalhada por pastagens, poisios e searas.
Aos novatos parecia afoito o caminho dos companheiros, como se andassem por terras suas. Viram‑nos saudar com o braço aquele desalmado seco e alto que estava no meio da lavra, arremedo de espantalho para afugentar pardais, e seguirem sempre à rabeira.
Ainda bem que vinham outros lá atrás; iriam com esses. Fez‑se um riacho de gente pelo carril adiante.
Para além, o mesmo plaino onde só os aposentos e os palheiros eram tropeço à vista. Uma ou outra árvore, espalhada pela borda das abertas, lembrava as frondes das suas terras distantes.
Subidos em estertores, quase desfolhados já e amarelecidos, aqueles troncos não eram gritos vivos de seiva ‑ assemelhavam‑se a figuras humanas que o desalento tocara.
Nem sequer alvura de uma aldeia ou os seios de um monte.
Para o sul só planície e céu ‑ céu e planície.
Por isso a gralhada do rancho parecia, a muitos ceifeiros, falsa e de mau agoiro. Por isso também os olhos se volviam tanto para o norte, onde os montes se desenhavam aos solavancos, envolvidos por uma bruma cinzento‑azulada.
Caminhavam aos grupos, aturdidos. De fatos assolapados por remendos, de barretes e chapéus puxados para os olhos, ficava‑lhes mais sombrio o parecer dos rostos tisnados pelas soalheiras da vindima.
Enrolavam‑se alguns em gabões desbotados, trazendo ao ombro sacos e foices, paus e caldeiras.
E as mulheres, embrulhadas em xailes desfiados ou saias de casteleta pelos ombros, marchavam silenciosas, de pés descalços.
Sentiam saudades da terra que lhes negava o pão. Saudades bem fundas, catano! Vir de tão longe...
E se lá havia pão para todos! Mal tinham acabado os dias fadigosos das vindimas, ainda o vinho saía ao pipo, já as aldeias se despovoavam para a Borda‑d'Água. Era um êxodo de desgraça e susto. Que iriam encontrar por ali?!...
Alguns alugados desde há muito; outros vencidos, finalmente, pela escassez dos últimos dois anos.
‑ Nunca se viu coisa assim!... A terra parece praguejada.
E sempre a pior. Todos os anos esperanças novas e a resposta matava‑as.
Courelas pequenas, onde se desunhavam a trabalhar, passando a mãos estranhas que nunca as tinham apalpado à enxada, logo depois feitas courelas grandes com outras e outras que se lhes juntavam.
Por isso achavam disparatadas as gargalhadas dos companheiros que caminhavam à rabeira do singel.
Uma gaita de beiços sarrazinava qualquer melodia que atordoava a incerteza das interrogações. A jorna ainda não ia certa. O que os outros pagassem, o patrão daria também. Todos liam pela mesma cartilha e os ranchos ficavam entregues às combinações dos feitores.
‑ O Silveira faz férias a quatro e eu não posso oferecer mais. A ver bem, até devia pagar menos. Se fosse a medir os teres de cada um... Mas vá lá!
Tocados pela melodia da gaita de beiços, dois homens puseram‑se a cantar:
Era o vinho, meus Deus, era o vinho...
Os outros riram. Só uma mulher os repreendeu. Um deles deixou descair o chapéu sebento para a nuca e retorquiu‑lhe de boca torcida:
‑ Até os enterros de primeira levam fanfarra, Ti Ja‑quina.
‑ fi um bom enterro, é...
... Era o vinho que eu mais adorava...
O tocador interrompeu a música numa gargalhada. Os dois gritaram‑lhe insultos, apoiando‑se um no outro.
‑ Vá lá isso!...
‑ É certo.
Era o vinho, meu Deus, era o vinho...
Esfalfadas, a arfar, as velhas arrastavam os pés, a quererem acompanhar as outras, e levantavam poeira do carril, como rebanho de volta à malhada. Vinham com elas as que traziam os filhos ao colo, chupando‑lhes os peitos sem viço, e a cachopada mais tenra, mal habituada ainda àqueles trabalhos de galé. Alguns iam conhecer patrão pela primeira vez. Já 'os tocava, porém, a mesma certeza dos que andavam a vida inteira a labutar sem norte.
De roupas desajeitadas, feitas para os outros, de panamás negros a encoifar‑lhes os rostos, onde os olhos assemelhavam vaga‑lumes na noite funda que os cobria, embora o Sol andasse nas alturas a chapinhar luz.
Uma velha deixou‑se cair no valado, a tossir e a rezar. Os membros aquebrantados pareciam ter‑lhe abandonado o corpo e ali ficara sem forças para ir no rastro do rancho.
‑...o Senhor é convosco...
Agatanhando as ervas, subiu ao alto do valado e sentou‑se, como se ali procurasse refúgio. Tossiu mais ‑ e rezou ainda.
‑...bendito o fruto do vosso ventre...
Espraiou os olhos pela campina fora, mas sentiu‑se só. Só como nunca, derribada na alma.
Aqueles troncos, doridos nos estertores do cerne, apareciam‑lhe como o espelho da sua própria angústia. E a velha chorou num pranto manso. A cambalear, carril fora, vinham dois homens cantando:
... Só por morte eu o vinho deixava.
Pararam a olhar a velha e riram, quando notaram que lhe caíam lágrimas nas faces golpeadas pelos anos.
‑ Parece que vem prà morte, Mãe Santíssima!
‑ Bem morte...
‑ Falta‑lhe o homem ‑ amalandrou um deles.
‑ Vai disto, ó quê? ‑ perguntou o outro.
E estendeu‑lhe a garrafa. A mulher benzeu‑se e arreganhou um sorriso amargo. O homem levou a garrafa à boca e o vinho escorregou‑lhe pelo queixo. Passou‑a depois ao outro e arremelgou os olhos, para fixar a planície irrequieta como um poldro selvagem. Acabou por se sentar na borda de uma vala, com os pés metidos na água que o remijo do arrozal fazia correr de um boqueie.
Já ao terreiro dos aposentos tinham chegado os companheiros. Esperavam. Esperavam ordens e o mais que já sabiam ou adivinhavam.
A manada de éguas da casa matava a sede no bebedouro. Em osso, escarranchado numa, o guardador assobiava‑lhes, mirando o rancho.
‑ Quiá, Garrafa..... fii!... Ei!...
Do aposento maior, o capataz saiu com o abegão. Os ceifeiros iam arriando os arranjos do carro e deitavam‑se no chão afadigados.
‑ Eh, gente! Nada de fazer tropa por aqui.
‑ Vá pra este barracão! ‑ gritou o capataz.
Passaram os sacos e as mantas para os ombros e marcharam em fila. Um disse qualquer gracejo para matar a ansiedade, mas os outros não o ouviram. Pareciam ausentes.
Os criados, à porta da mota dos bois, atiravam‑lhes a ofensa em voz baixa:
‑ Gaibéus!...
Toda a Lezíria lhes repetia o nome.
‑ Gaibéus!...
ARROZ À FOICE
Pelo tecto da poisada e pelas frinchas das portas entram cordas de claridade.
Homens e mulheres, enrolados nas mantas listradas, dormem pelo chão, em ressonares profundos, sobre esteiras ou em palha, como o gado que está na mota a remoer.
Estão para ali, sem divisões de sexo, vencidos pelo torpor que o trabalho lhes deixa nos corpos.
Do alto da trave mestra pende um arame que agarra um candeeiro, frouxo de luz. E a claridade, entrando pelas frinchas, acorda um capataz que se levanta, a abrir os braços, e vai apagar o candeeiro.
‑ Eh, gente!... Vá d'arribar, qu'o dia não tarda.
‑ Eh, gente!...
E a malta mexe‑se, molengona, esfregando os olhos, a bocejar.
O ambiente anda carregado com o cheiro dos corpos suados pelo trabalho e pelas sezões; deixa nas cabeças uma moinha pesada.
Os homens enfiam os barretes ou os chapéus que deixaram, pendurados nos cabides dos alforjes; as mulheres ajeitam os lenços e os cabelos desataviados, sem ganas de voltar para a ceifa.
Olham‑se estranhos, sem palavras, movendo‑se em gestos lentos.
‑ Eh, cachopa!... Olha que o sol vai‑te envergonhar!... Se já 'stás assim no primeiro dia, como é que hás‑de deitar fora as semanadas? Anda lá, mulher!...
Os capatazes vieram cá para fora e formaram grupo, fincando os paus no chão e nos sovacos, a enrolar cigarros e a espreitar às portas.
Da mota dos bois chega o badalar dos chocalhos e os gritos dos guardadores.
‑ Eiióóó... Fasta, Doirado.....
E os ceifeiros vão saindo da noite das poisadas, foices ao ombro, piscando os olhos pelo contraste da luz branda que a manhã traz, aperreando os braços ao tronco, pela nortada agreste que canta nas espigas do arrozal e no zinco dos telheiros.
Vão‑se sentando, alguns pelo chão, de cabeças pendidas pelo carrego dos pensamentos, a riscar linhas e círculos, com o bico da foice. Quando erguem os olhos, vêem a ínsua doirada do arrozal, donde se levantam calhandras a piar, açoitadas pelos tiros e pelos gritos do pardaleiro.
IA ao longe, na resteva do grão, uma manada de éguas tascuinha. As mais ariscas estão peadas, de mãos presas pelas cobras, e saltam sem jeito para se chegarem a algum bocado mais de apetecer.
Há um homem que repara na tortura das éguas peadas.
‑Aquelas 'tão com'à gente...
O pular das éguas e o mover dos pescoços, pelo ferrão das moscas, fazem tilintar os chocalhos. E os chocalhos soltam plangências, como se lamentassem as éguas e os ceifeiros.
Nem um dobre de finados ficava mais triste.
A manhã está de Outono ‑ cinzenta e fria.
Os montes do norte cavalgam o horizonte vestido de bruma e parecem querer empinar‑se para o céu.
O vento silva nas espigas do arrozal e no zinco dos telheiros.
Um choupo abandonado, onde as cegonhas na Primavera vêm fazer ninho, solta folhas mirradas que brincam no espaço.
Os doentes de peito têm tosses fundas, escarrando no chão.
Os chocalhos badalam e o seu som tem eco nas almas.
‑ Raio de coisa!... Se eu pudesse...
‑ O quê, Ti Manel?
‑ Calar aqueles chocalhos. Coisa danada! ‑Ora!...
Lá na terra, a volta dos rebanhos é uma ode à alegria, um repicar certo que enfeita os caminhos com o seu cântico. E os gritos dos cachopos são vivazes como a chã retalhada.
Mas aqui...
Só planície e céu ‑ céu e planície.
E aquele som espaçado, lúgubre como o piar de uma ave de agoiro, parece contar aos homens a história triste de alguém que se finou.
Os capatazes continuam à espera de ordens para pegarem.
Conta um deles certa aventura que tivera nas Áfricas, cochichando pormenores com gestos largos e expressões brejeiras. E os outros riem, acotovelando‑se; fica‑lhes nos olhos um brilho de malandrice.
Há mulheres que põem canos nas pernas para que o frio da água não lhes fira a carne.
O olhar dos homens ferra‑se nelas, a inventar intimidades ou à espreita de algum descuido que lhes mostre as coxas.
Na boca das mulheres brincam sorrisos de troça; algumas fingem‑se distraídas e dão‑lhes o jeito.
Há gente que vem ainda a sair da poisada, a bocejar, em movimentos lentos de mandria.
‑ Isso é que é vontade, ó Chico!...
‑ Se te parece...
‑ Andas amigado com a manta; não a deixas nem por mais uma.
‑ Pois s'a gente enquanto dorme...
‑ Não s'alembra do trabalho.
‑ Na!... Ainda se fosse isso. Não cuida que tem barriga. Todos riem.
‑ Estás um Frei João Sem‑Cuidados!...
‑ Olha que nisso dava. Se a Rosa me passasse lá pelo convento, fazia‑lhe um jeito que eu cá sei...
E pisca o olho, franzindo o rosto, enquanto uma mulher sacode a Maria Rosa, entretida a afagar as pernas.
‑ Ora o trongo! Só se andasse de securas ‑ reponta a moça.
Os dichotes andam de grupo em grupo; animam os ranchos. O desalento afoga‑se nas gargalhadas como nos remoques. Estão agora voltados uns para os outros; esqueceram
a tristeza da campina e as interrogações «da aventura, sem
ventura».
À porta do aposento, a puxar à frente as pontas da jaqueta e a mirar o rancho, o patrão aparece com a empáfia de quem manobra tutela.
Logo os capatazes deitam mãos aos relógios e dão ordem para se ir à faina.
‑ Eh, gente!... São horas, vá de andar!
‑ Eh, cachopos!
E todos se erguem, de foices na mão, marchando em grupos pelo carril que leva ao arrozal. Caminham a passo ligeiro entre larachas e risos. O primeiro dia de trabalho é sempre uma trégua na angústia dos dias parados.
Até as velhas parecem remoçadas pela jorna que vão ganhar e só caem em amargura quando recordam que aquela pode ser a última.
Mas lá à frente vai uma cachopa a cantar, e a cantiga esvoaça até às velhas para lhes dar novos alentos.
Os criados da casa cirandam pela eira, a varrê‑la com as vassoiras de lentisco e a corrê‑la com as burras.
Dois deles estão à volta de uma carreta a untar‑lhe as ' rodas, porque a carreia vai ser intensa e todos os carros serão poucos para trazer os molhos à debulhadora.
A contas com esta, o maquinista dá ordens aos homens no dispor dos apetrechos para a debulha. Da abegoaria, um maltês carrega um rolo de correias para rever. As arvéolas saltitam na eira, em corridas curtas, buscando grãos abandonados, sem receio dos criados que varrem.
O cano da locomóvel põe um ponto de exclamação no espaço.
E o rancho vai pelo carril fora, acolhido pelo coaxar disperso das rãs.
Tio Arriques, o arrozeiro, espera a malta no capelo de uma maracha; lança os olhos aos canteiros para destinar trabalho, pois a ceifa ainda não pode ir a eito, porque o arroz não se chegou à foice por igual.
Há ilhas de espigas verdoengas por entre oiro da lavra.
‑ S'o patrão não andasse de fogo no rabo por mor dos ranchos...
Os capatazes vêm à frente, de marmeleiros na mão, como guias do rebanho que levanta uma gaze de poeira no caminho. Deitam rabos de olhos para trás, se as gargalhadas estalam, «não vão aqueles dianhos fazer alguma coisa a despreceito que amofine o patrão».
As moças sem dono caminham rodeadas de machos mais alfeiros por fêmea, a deitarem‑lhes a sua graça, a premirem‑lhes os braços duros com as mãos desajeitadas.
E elas riem nervosas, a sacudi‑los.
‑ Teje quieto, seu Manel. Vosseniece não sabe ver sem mexer?!... Or'ò raça!...
‑ Atão como é que a gente há‑de ver a fazenda, cachopa?
‑ Isto aqui não é loja. Vá ver se a sua mãe tem ovo, ande!... Or'ò dianho!
‑ Não farremelgues, mulher!...
E ciciam‑lhes ternuras, querendo adoçar‑lhes ‑a rebeldia logo à primeira investida.
Esganiçada, uma mulher canta a propósito:
O rapaz do chapéu preto precisa a cara partida.
O rancho caminha a passo ligeiro, enlevado na cantiga:
... Por baixo do chapéu preto pisca o olho à rapariga.
Já o arrozeiro aponta com a pá os canteiros a ceifar, e os capatazes seguem‑lhe o gesto para poderem dar jeito ao corpo.
Pelo muro, junto ao valado, a mover‑se na cortina das oliveiras dispersas, vai o pardaleiro de lata na mão; o seu brado selvagem ecoa pela Lezíria.
‑ Êi éi íóóó!... Éi éi ióóó!...
Assustadas, as calhandras levantam voo raso, ondulando sobre as espigas.
Em grupo cerrado, os alugados ficam no carril, à espera de ordens.
Ouvem ao longe o grito do pardaleiro e seguem o voo das calhandras.
‑ Eh, vocês!... Eh, gente do meu rancho!... Entrem por esta banda... aqui...
Os gaibéus saltam à linha, metem ao combro da regadeira mestra, pisando almeirões e burgos, juncas e malvas.
Calam as rãs o zangarreio e esgueiram‑se, pesadas, para se acoitarem nalgum charco que ficou na regadeira ou por entre os caules do arroz, onde fazem restolhada. Divertidos, os rapazes deitam‑lhes torrões, a espantá‑las, e riem dos seus olhões espantados pelo susto.
‑ Vá com cuidado, gente!... O arroz das pontas também é do patrão.
A faina começa.
Partidos pelos rins, quebram‑se em ângulo de cabeças pendidas como as panículas do arroz que se ouvem no marulhar brando da aragem da manhã.
Com a mão canha, os ceifeiros jungem as canas dos pés e lançam a foice com a direita, cortando‑as à força de pulso, sem pancada, não vão os bagos saltar.
Voltam‑se para trás e depõem as espigas em gavelas, com movimentos bruscos, como se andassem de empreitada.
O terreno está fofo, empapado das águas, onde os pés descalços se atascam na lama e esfriam.
A cada corte, as nuvens de mosquitos elevam‑se e envolvem os ceifeiros; pousam‑lhes no rosto e nas mãos, penetram‑lhes na boca aberta pelo arfar ou nas ventas.
Os cavalos‑do‑diabo e os tira‑olhos zumbem em busca de novo abrigo, orientando‑se no espaço. Alguns, mais tontos, embatem nos ceifeiros e caem na resteva a tremelicar.
Só se ouve o balanço das espigas que tombam ao contacto das foices.
E o arroz estala nas gavelas, como fogueira a crepitar achas secas.
Na toalha doirada da seara, as cores vivazes das blusas das mulheres são úlceras que a gafam.
Os ranchos acordaram a madrugada e o Sol rompeu agora o manto cinzento que cobre o céu.
As gotas de orvalho fulgem ao seu contacto e ferem os olhos, encandeados pelo amarelo das panículas.
Como uma cheia que cobrisse os campos, o amarelo invadiu os ceifeiros.
Já lhes apagou nos olhos a luz do orvalho a lucilar e parece que entra nos corpos e corre nas veias, em enxurrada, desaguando amarelo, amarelo, amarelo, na cabeça entontecida pelo ritmo da faina.
O zuído dos mosquitos é um eco do vendaval que cobre os corpos dos ceifeiros.
As mãos não estagnam. A meia‑lua das foices fende o espaço com a sua lâmina azougada.
Na resteva enleada de limos, as gavelas ficam a repousar. São teias de uma trama grossa e esverdeada.
‑ Quem chega à borda, anda pra riba! ‑ grita o capataz
‑ As bordas não se cortam!...
Num abrir e fechar de olhos, as foices tragaram um canteiro,
E os ceifeiros passam a outro polígono, espezinhando o restolho, onde na lama ficam marcados os seus pés gigantes.
Aproveitam esse momento para desentorpecer os braços da fadiga e as pernas do frio. Empinam o tronco, a escorraçar as dores que se acoitaram no dorso, e respiram com sofreguidão o ar fresco da manhã.
Logo recomeçam na mesma azáfama, ora frente à seara, ora voltados à resteva, a derrubar caules e a depor gavelas que marcam os passos de cada ceifeiro.
Tímido ainda, o Sol escancara luz no arrozal para acariciar os ranchos, emprestando‑lhes alento. As mãos entorpecidas pela geada ganham novos vigores e as lâminas das foices parecem mais leves e afiadas.
O marralhar das panículas que tombam alegra de ritmo, talvez porque o calor brando do nascente afague a fronte da malta, como mão invisível que lhe dê carinhos.
A chapinharem nos xabocos ou a regalarem‑se ao sol, o zangarreio das rãs é canto de trégua para suavizar o labor.
Os estorninhos aceitam o desafio e vêm em bando, enrodilhados, dançar de roda e pipilar um coro que depois se afasta para a margem do Tejo.
De longe, corre o brado de um maioral e o chocalhar de uma manada.
O rancho parece embalado por aquela orquestração e não pára de amontoar paniculas.
Atrás dele fica a desolação da resteva chagada de gavelas; embandeira‑a, a espaços, verde de alguma junca ou da negrinha.
Dois fedelhos, expeditos de vigor, saltaram ao canteiro ceifado, para fazer a respiga.
‑ O pessoal 'tá animoso, ó seu Francisco!
‑ Isto é gente de boa marca... É pessoal sôfrego! Como rajada de vento, os ceifeiros marcham pela seara adiante, brandindo alfaias, derrubando espigas.
Na sua frente, os cachos adejam à viração, como um mar crispado de mareta que eles querem estagnar.
As cachopas e as velhas já arfam pelo Ímpeto do trabalho, mas não podem dar tréguas; os capatazes continuam alerta. Arrastam‑se sem alma nos braços, cabeça em rodopio, dentes fincados.
Estão como ébrias, escorridas de forças. Caminham porém ao lado dos outros, como máquinas a que deram movimento e não conseguem deter‑se.
As foices parece que lhes caem, mas arrepelam os cabos com os dedos descarnados. As canhas vão jungindo pelo tacto os ramalhetes de caules, pois nos olhos já as retinas ficam mortas.
Na crista das marachas os capatazes espiam sempre.
‑ Dêem a porrada pequena, que o arroz está cabeçudo, eh, gente!...
‑ Que raio de serviço!... Cheguem atrás!
Aquele vai deitando o olho às curvas tostadas das pernas das mulheres, descompostas pelo pender dos troncos no lameiro.
Safo de fadigas, belisca‑lhes com a vista o capitel das pernas. A saia de baixo de uma delas está rasgada e tem manchas de sangueira pisada.
O capataz afasta a vista e sente ganas de a mandar desferrar.
‑ Ora o raio!...
Dá a volta na maracha para se afastar dela, mas o rancho descreve agora uma linha sinuosa, a procurar jeito ao trabalho, e a saia rasgada fica de novo à sua frente.
Já lhe parece que todas as saias de mulheres se rasgaram e têm manchas de sangueira pisada.
Ali ao pé dele grita uma papoila ‑ como um charco de sangue que a ceifeira deixasse no seu rastro.
«Pra que raio é que as papoilas são encarnadas?...»
E atira‑lhe uma cacetada que a desfolha. As pétalas ficam a escorrer vermelho nas flores azuis de um almeirão"
‑ Eh, cachopa!... Eh, tu!...
Uma volta‑se de rosto afogueado, endireitando o busto rompante de seios.
‑ Eu, seu Francisco?!...
‑ Essa que 'sta aí à tua banda!
‑ Eu?!...
‑ Sim, tu!
Quando se empina, a mancha apaga‑se e a saia rasgada cobre‑se pelo rodar da de casteleta.
‑ Como é que 'stás a trabalhar?!... Vê se tens trambelho nessa foice; o arroz não é pra semente.
‑ O seu Francisco...
‑ Qual seu Francisco, nem meio seu Francisco. Ceifar arroz não é ceifar trigo!... Dás cada balanço à espiga... Isso não é ceifar, é andar aos coices!
A mulher volta‑se de novo à seara, lágrimas silenciosas a trilharem‑lhe o rosto coberto de poeira.
«Pra que raio é que as papoilas são encarnadas?...»
O capataz vai postar‑se na outra banda da maracha, espezinhando no caminho quantas papoilas adregou.
No rancho faz‑se silêncio.
Só a companheira da mulher de saia rasgada lhe cicia alentos.
‑ Deixa lá, mulher, não tamofines. Ora tu!... Deixa, que ele "tá doudo. Aquilo passa!...
O gume do sol que acariciava faz‑se tormento.
Os ceifeiros vão andando sempre, mas sentem‑se trôpegos.
Cospem nas mãos continuamente; o cuspo é escasso, pelas securas, e não anima as mãos.
As cabeças põem‑se em fogo pelo pender do tronco e pelo arco de lume que o sol afivela nas nucas.
Ainda há manchas brancas de orvalheira nas folhas do arroz, mas aquele contraste estremece os corpos e dilacera as mãos gretadas.
Os pés evadiram‑se pelo frio; os ceifeiros julgam‑se suspensos na seara, como aves paradas no voo. À volta das cabeças os mosquitos vão‑lhes zuindo e beliscam‑lhes as carnes amolengadas de fadiga, cravando‑lhes no íntimo a angústia de todas as horas ‑ maquia paga àquela planície sempre triste, desdobrada até ao horizonte.
E as panículas, a balouçarem em tremuras de passeio breve, tomam formas humanas, sacudidas pelo arrepio da malária.
‑ Que aquelas malditas, quando pegam, são piores que o mau tempo à entrada da Lua. É ficar na esteira quartéis e semanadas, sem forças de arrebitar a cabeça, quanto mais de puxar pela foice. E dar‑lhes de mão e esperar que se fartem de atazanar um home. Quando lhe prantam jeito de ir à cova... lá abalam.
Vai de um para outro, até correr todo o rancho, mais aquela dúvida.
Na malta o silêncio torna‑se mais fundo ‑ o tombar das espigas já não farfalha; as gavelas já não crepitam. Esqueceram ruídos.
Nos rostos terrosos, como pedaços moldados no lamaçal dos canteiros, há bagas de suor que o sol faz lucilar, como a orvalheira que ponteia o arroz. Mas o suor parece gelar nas faces cavadas pela fome guardada.
As roupas estão empapadas, a feder sujidade e cansaço.
Morre no ar o odor das espigas loiras cortadas e das flores crescidas à babugem. Fica o cheiro acre dos corpos molhados pela rudeza da labuta. Como por toda a lezíria se agigantam os alugados que se curvam a brandir as foices. Tudo se amesquinha ali, junto deles, que vivem necessidades de mendigos, já
As mãos limpam as frontes, depois de ampararem até às gavelas os pés ceifados. O suor vem agora em borbotões, cada vez mais impetuoso, como sangue a verter de chaga funda.
As bocas movem‑se a resmoer, querendo segregar a humidade que não vem mais. Estão febris e sedentas, provocadas na sua tortura pela água dos xabocos, onde os pés se enregelam.
Quando os olhos se erguem, no endireitar dos bustos, a seara a ondear parece‑lhes uma cheia entrada na Lezíria, a fugir à sua frente, como anojo acossado.
E o frufru das espigas soa agora numa balada de fonte a jorrar água fresca.
As bocas não param de resmoer ‑ a humidade, porém, não chega mais.
Só das frontes esquentadas pela brasa do sol o suor vai caindo sem cessar.
Nas camisas dos homens desenham‑se as omoplatas, agitadas como êmbolos cansados pelo mover das foices e pelo amontoar das espigas.
De soslaio, os olhos vão clamando, em silêncio, aos capatazes.
Mas os capatazes espreitaram as horas nos relógios e entenderam que ainda não chegou a hora de lhes dar de beber.
‑ Eh, gente!... Eh!, mãos de lama!... Essas foices que não morram!...
‑ O patrão vai dizer das boas, se botar cá arriba!...
Os ceifeiros, tangidos pelo aguilhão daquela ameaça, buscam novos esforços para aligeirar a faina. Fincam os dentes, para abafar a fadiga que lhes abala os peitos abertos, mas a tosse estala‑lhes como um eco da moinha que começou suave na ponta dos pulmões e foi alargando, pouco a pouco, até lhes tomar todo o corpo.
Têm ganas de se deixar cair, enrodilhados na resteva húmida dos canteiros, buscando com a boca sedenta o refofo da água que ressuma à pressão dos seus pés.
É que lhes anda nas carnes, minadas pela tísica, uma indolência que os aquebranta.
A ceifa, porém, vai sempre adiante ‑ sempre adiante que lá em baixo, no aposento, o patrão está a fazer contas à colheita, que correu de boa maré.
Por isso o cansaço dos ceifeiros tem de ser desfeito pelos brados dos capatazes, arrimados aos varapaus, como soldados em guarda empunhando espingardas.
‑ Eh, tu!... Anda‑me lá mais ligeiro, que da tua banda fica uma ponta.
O outro volve‑lhe o olhar humilde de animal pacífico.
‑ Já te vi, homem!... Já te vi!... Se ainda fosses uma cachopa tenra...
O ceifeiro pende mais a cabeça, finca na foiça os dedos com desvigor de moribundo e vai cortando caules que lhe roçam a fronte e lha limpam de suor.
Aquele roçagar de humidade empresta‑lhe ímpetos ‑ parece mão fresca de mulher a dar‑lhe afagos que não conhece.
Cerra os olhos e pensa. Pensa vingança que não esqueça. A mão descarnada vai tacteando o arroz; o decepar das canas assemelha‑se ao fender de um cutelo a cortar carne.
E vê a cabeça do capataz, ali à mão, a sorrir o seu descanso, a ralhar as suas injúrias.
Nunca os dedos entorpecidos de fadiga se fincaram mais num pé de arroz. Nem os tendões se crisparam tanto no seu braço escorreito de vigor.
Segurava ali entre as mãos, as suas, a gorja carnuda daquele vendido ‑ que eles, ceifeiros, eram só alugados a tanto por cada dia.
Alugados por uma colheita e depois... ala, moço! Cada qual trata de si.
Mas agora nada havia que valesse àquele vendido. Ia dizer‑lhe cara a cara, olhos com olhos, todo o seu ódio. O ódio de sete gerações roubadas.
E quando na cara do outro alvorecesse o primeiro sinal de medo, quando pela garganta bem apertada se escapasse o primeiro vagido de súplica, saberia também gritar‑lhe o seu desprezo.
«Ah, cão!... Se ainda fosses uma cachopa tenra!...»
Sentia na concha da sua mão canhota o bater compassado daquela vida, como o passear de um pêndulo a beliscar o silêncio.
Aos pedacinhos, ia fechando a tenaz dos seus dedos aduncos. A cada novo esgar teria um requinte de carrasco.
No rosto lívido do capataz havia agora laivos sanguíneos que depois eram roxos.
Roxos e amarelos... Sanguíneos e azuis...
Em todo esse carão sinistro os laivos se tinham rompido e o inundavam.
Parecia até que os cabelos se tornavam roxos.
Roxos e azuis... Sanguíneos e amarelos...
Da boca aberta nem um vagido. Dos olhos nem uma centelha. Eram grandes que nem faróis, mas não tinham luz lá dentro.
«Se ainda fosses uma cachopa tenra...»
E a mão arrepanhava‑se mais a querer esmagar‑lhe o gorgomil, que já não batia o compasso da vida mal empregada num bicho de peçonha.
‑ Vendido! ‑ Os ceifeiros eram alugados. Alugados por uma colheita e depois... ala, moço!
Os olhos do outro ganhavam, porém, uma expressão de riso,
O ceifeiro meteu‑lhe o bico da foice ao vidrado de um olho, à conta castanha parada. Deu um pequeno jeito à mão, só um jeito de nada, e o olho ficou pendido na face roxa do outro. Do pequeno buraco aberto vertia sangue como de uma bica.
Mas a água daquela fonte era pastosa e fazia securas ‑ sede de água e de vingança. A mão descarnada do ceifeiro vai tacteando o arroz e o decepar das canas assemelha‑se ao fender de um cutelo a cortar carne.
A cabeça do capataz, vazia de olhar, rolou na resteva. Os milhanos andam a dançar‑lhe de volta, estendendo os bicos para o devorarem.
Sente as mãos tintas de sangue e o rosto também.
‑ Eh, tu!... Anda‑me lá mais ligeiro, que da tua banda vai uma ponta ‑ grita‑lhe o capataz.
Volve o olhar e já não pede tréguas.
«Aquele capataz é outro. O Francisco Descalço já ele o tratou bem. Não o atazana mais. Parece irmão do outro, mas não é o mesmo. É outro... Outro que brama como o Francisco Descalço.»
O ceifeiro pende mais a cabeça e vai caminhando sempre, a cortar o espaço com a foice que talha clareiras na seara!
‑ Esses bocados rezentos ficam!
‑ Lume nesses olhos! O que é verdete não se corta! Atrás do rancho, a cachopada vai fazendo a respiga.
O Agostinho Serra traz a terra de renda à Senhora Companhia e um punhado de arroz faz‑lhe falta nas contas.
Nas goelas anda seca de Agosto, que os xabocos dos canteiros avivam. Os lábios sorvem as gotas de suor que escorrem sempre, como os canteiros fazem o remijo para as valas de esgoto.
O cuspo é baba de boi que deitam fora e fica a balouçar entre os lábios gretados e sem cor. Anda‑lhes nos pulsos uma moinha que pede descanso, mas o trabalho não pode parar.
Não pode parar, porque lá em baixo, no aposento, o patrão está a fazer contas à colheita, que correu em boa maré.
Parece que dos braços as carnes caíram e só ficaram os ossos, como tomados de reumático, e os tendões retesados, como correias de debulhadoras em movimento.
Os peitos arfam, as pernas derreiam‑se.
A malta trabalha em silêncio e só as foices e as espigas falam. As tosses, de quando em quando, dizem que ali vai gente ‑ isso a distingue das máquinas, que não têm pulmões.
Um capataz deitou olho ao relógio e deu ordem aos aguadeiros para encherem os cântaros. Os rapazes correm arrozal fora, lestos que nem poldros, até ao furo que se debruça no tanque, onde as éguas bebem.
Volta novo alento ao rancho.
No carril passa um carro a gemer ‑ o gemido do carro canta agora uma melopeia alegre. Uma mulher responde‑lhe, vermelhuça pelo esforço:
Vai‑te, sol, vai‑te, sol,
Lá pra trás do barracão...
O sol põe‑se mais vivo. Mina os rins dos ceifeiros, esquentando‑os.
... És alegria prà gente. E tristeza pró patrão.
O poente vem longe ‑ nos corpos dos ceifeiros já é poente. A água vem aí e outro Sol vai romper.
Calaram‑se as tosses e fica a voz da mulher que canta:
Ai larilolela... E outras vozes se juntam:
Ai larilolela
O rouxinol canta de noite...
As espigas nas gavelas estalam como alecrim em fogueira. Três canteiros mais temporãos estão corridos.
Ai larilolela
De manhã a cotovia
Larilolela
Todos cantam, só eu choro...
‑ Auga!... Auga!...
As mãos quase pararam de arrepanhar caules. As vozes não cantam ‑ a malta embala‑se num canto novo.
A água é barrenta e salobra ‑ sabe melhor agora que quantos caudais saltitam claros e saborosos pelas vertentes dos montes.
‑ Vai auga?!...
As mangas das camisas e das blusas ensopadas limpam as bocas definidas por humores que assemelham pus. Os cântaros passam de mão em mão, mirados pelas pupilas ardentes dos que ainda lhes não deitaram os lábios.
‑ Auga!... Auga!...
‑ Vem aqui, cachopo, que eu também sou filho de Nosso Senhor...
Envolvido pelo panejamento das nuvens, o Sol escondeu‑se.
O ceifeiro rebelde já não tem o rosto e as mãos tintos de sangue. Um suor mais basto rola‑lhe nas faces e perde‑se na barba ponteada de branco.
‑ Mais auga!... Auga!...
E aquele brado gargalha no ar, como o grito festivo de um gaio.
‑ Eh, gente!... Beber auga e pegar na foice. Isto não é sesta...
O tombar das espigas ganha outro ritmo. As mãos movem‑se mais ligeiras, as foices parecem mais afiadas. A humidade dos canteiros não dilacera tanto os pés entorpecidos ‑ ganhou um calor que não oferecia até há pouco.
‑ Vai auga?!...
... Vento fresco é maré boa,
Os dentes rilham com dentes, mas a língua enche a boca, como um freio que a esbraseasse.
... Vento fresco é maré boa, Mas nem sempre pode ser...
O sol voltou mais brando. Um suão empurra as nuvens para o norte, revestindo o céu de farrapos brancos e cinzentos.
Os capatazes deitam‑lhes os olhos a vê‑las correr e miram todo o horizonte. Ficam de expressões paradas, a ruminar.
Seu João já vai arriba...
Sempre a mordiscar remoques, vão‑se chegando uns aos outros, ora a olhar os ranchos, ora a desvendar o céu.
... Seu João já vai arriba E eu aqui a padecer.
‑ Eh, Tóino, que tal te cheira?...
O outro encolhe os ombros e franze o queixo, estendendo os lábios.
‑ Tu sabes da poda, anda, diz lá. Dá molho, ó quê?...
‑ Nem São Pedro o sabe. Isto anda tudo doudo! E a um silêncio dos companheiros:
‑ O meu avô dizia lá na sua que quando as nuvens dançam pró norte é vestir capotes. Mas andam enroladas...
‑ Era obra de gaita se desse de cair sem dó.
‑ A gente não perde, home.
‑ Pois sim, anda lá. Mas é que... Eh, cachopo dum corno! Vá lá de risotas...
E volta a fechar a roda dos guardiões, piscando o olho aos outros enquanto se ampara ao cajado.
‑ Mas eu é que tenho ali do meu sangue. Jorna de menos aleija...
‑ Faz diferença na arca.
‑ Não dá pra isso, home. Já lá vai o tempo! Vinha um homem para aqui e voltava com umas notas no bolso que lhe davam pró amanho do bocadito lá da parvalheira.
‑ Também é verdade essa.
‑ Mal se punha pé em terra, ia‑se dar a volta. O padeiro ofereceria pão para toda a semana e três notas no fim. Agora, quando vem uma, é festa de santo. O gajo da mercearia largava o seu quinhão largo. Agora começa a dizer qu'«isto vai mau», qu'«as contribuições são grandes», e o que levam no peso mal dá prós gastos.
‑ E então se era pela Páscoa...
‑ Aqui o Manel está tenrinho nesta coisa.
‑ Lá vinha mais uma lembrançazita...
E voltou a olhar o céu, querendo adivinhar o tempo. As nuvens vão correndo para o norte e desfazem‑se aqui, para se recomporem mais além, numa massa de cinza.
‑ Se dá molho, temo‑la feita. Lá se vai a jorna da patroa e da cachopa.
‑ Olá'..... Mal não estás tu, homem!
‑ Pois sim, anda lá...
O rancho esmaeceu na faina. O farfalhar das panículas a afagarem‑se torna‑se mais brando. Os ceifeiros passam dichotes e conversam baixo, não vão os capatazes ralhar.
Uma cachopa canta. Outra junta‑se‑lhe e outra ainda. Entre lábios, todo o rancho acompanha as cachopas que cantam. Adormecem angústias e a ceifa ameniza.
Manuel foi o primeiro
que tomei por meu amor!...
Junto ao carril, Já o fumo se eleva do lume que duas cachopas avivam. As caldeiras estão alinhadas para cozinhar o almoço.
Uma vai dispondo as pontas de arame do cambarichOl e a outra espreita as caldeiras. Na água vogam magras bolhas de óleo e feijões furados.
As duas cachopas vão prolongando o despertar do lume e o pendurar das marmitas.
‑ Ah, Rosa!...
A outra está absorta, de cabeça baixa, a olhar o brasido. Os seios põem duas pontas na blusa azul, enfeitada de renda esgarçada.
‑ Ah, Rosa!... Não ouves, mulher?...
‑ Quéé!
‑ Isto sempre é melhor do que trazer a foice na mão.
A outra vai lançando achas à fogueira e passa o antebraço pelos olhos picados com o ardor do fumo. Dá um passo atrás e fica‑se a seguir as labaredas que lambem de negro as caldeiras.
‑ Não gostas disto?
‑ Eu cá não!
Chegam até elas as cantigas dos ranchos e o coachar irónico das rãs nos charcos.
Os sons confundem‑se ‑‑ parece às vezes que as rãs cantam e as mulheres coaxam.
‑ Estás triste, Rosa? A outra suspira.
‑ Estás com mal d'amor, mulher. Deixa lá qu'o Tóino não te troca. Parvo não é ele...
‑ Ora!...
Correm‑lhe duas lágrimas nas faces queimadas.
‑ Mas que raça de cachopa... Tu choras, Rosa?...
‑ Ah, mulher, que coisa!... É do fumo...
E apaga as lágrimas com as pontas dos dedos, enquanto se agacha a juntar o brasido com um cavaco.
‑ Estás‑talembrar da tua mãe?!... Sempre custa!... E então quem sai de casa a primeira vez... Mas depois... a gente acostuma‑se e até gosta.
Ela pensa. Se não pensasse, não estaria triste.
Aquilo lá por casa ia mal. Do pai ficaram uns pedacitos de chã que pouco a pouco se foram. A doença da mãe acabara por levar o resto. Pediram dinheiro pelas fazendas ‑ pouco, para não comprometer‑, e aquilo passou a mãos de outros.
Jorna ganha aqui e ali, sempre procurada nos primeiros tempos pelos mais ricaços. Com a féria lá vinha mais uma pinga de azeite, um bocado de porco salgado, umas couves...
Era boa gente!
Condoíam‑se das duas e ofereciam‑lhes aquelas ajudas de bom coração.
Pensou assim muito tempo.
A companheira dava volta às caldeiras; metia‑lhes a colher e provava. Numa ou noutra, deitava um punhado de sal. E cantarolava entre dentes.
O melhor patrão era o João da Loja. Andara por fora muito tempo e diziam dele coisas de pouco abono. Mas aquele zunzum ia passando cada vez mais, até ficar na boca de meia dúzia. Comprava todo o bocado de terra que aparecesse. Quem tivesse fazenda e lhe fosse à porta pedir ajuda não voltava sem dinheiro. Tempos passados, a chã era dele.
Lá longe reboou o grito do pardaleiro.
‑ Êi éi ióóó!... El éi éi quei!...
Ouviu‑se um tiro, um rasgo de fumo vogou por instantes no espaço, e um bando de asas negras voou para os lados do rio.
Até ao infinito, para a banda de baixo, desdobrava‑se a Lezíria sempre em plaino, cortada por poisadas e palheiros dispersos.
Uma abelha zuniu à sua volta. Um milhano abriu as asas e plainou lá no alto.
Arrozal fora, os cachos iam‑se dobrando ao suão.
Um dia deu‑lhe fala. «Que s'ela quisesse...» Prometeu‑lhe tudo o que tinha ‑ a loja, as fazendas... tudo. Não voltou a aceitar‑lhe trabalho. Mandou‑lhe recados, deu‑lhe falas mansas. «Também tu, mulher... Não queres, pronto! Eu sou teu amigo na mesma.»
Parecia vê‑lo ali ao pé dela, a passar os dedos no bigode loiro, a afagar o queixo saliente de bruxa.
Tanto lhe andou à volta, tão escasso ia o pão lá por casa, que de novo o recebeu como patrão. Os primeiros dias andou bem. Quase lhe não dava fala. «Aquilo, passou‑lhe», pensava.
‑ Ah, Rosa!, tu sabes porque é qu'a gente não vai comer lá abaixo ao quartel?
‑ Eu não, mulher!...
‑ O patrão não quer que se perca tempo com as caminhadas. Sempre há cada um... E vai prantar aqui o nosso quartel. Quer o pessoal ao pé do trabalho... Trongo!
A outra voltou a cantarolar ‑ era como um eco do rancho que seguia arrozal adiante, a tragar espigas.
Quis beijá‑la à força. Deu‑lhe para trás com toda a gana e fugiu. Soube‑se pela aldeia. Aquilo despertou os outros. Teve de os correr a todos. O trabalho escasseou. O Ti Francisco Descalço trouxe um rancho à ceifa e ela pediu‑lhe lugar. «Pois sim, cachopa, pois sim. Não houvera lugar para mais ninguém...» Já pelo caminho viera à sua banda. Já na poisada quisera a esteira ao pé da dela. Agora mandava‑a tratar do lume...
Por isso ela pensava. Se não pensasse, não andaria triste.
«Tinha um palminho de cara que nem jardim em Maio», diziam as velhas. Só ganhara penas com a mercê de Deus.
O lume estava de espertina e ouvia‑se a água a cachoar nas caldeiras.
Dos olhos vinham‑lhe lágrimas ‑ não sabia se de mágoa, se do fumo.
As companheiras estavam na seara, alquebradas pelo esforço, rendidas pelas pontadas e sôfregas de água.
Invejavam‑na, talvez.
Ela preferia estar junto das outras, a sentir as mesmas dores e a mesma sede.
O contacto dos caules e da foice, ferindo as mãos, seria para ela uma libertação.
As suas dúvidas faziam‑se mais dolorosas do que a canícula e o trabalho.
‑ Ah, Glória!
‑ Já botas fala, mulher?
‑ Eu vou para a ceifa. Já cá não presto...
‑ Ora tu!... Não andas boa de cabeça.
Vai pela maracha fora, em passitos leves, correndo às vezes.
Tremelicam‑lhe os seios rijos e as ancas cirandam.
O Francisco Descalço fica‑se a vê‑la. Ela abranda o passo e leva os braços, em cruz, ao peito. Pega na foice e vai até ao rancho. O contacto da resteva húmida faz‑lhe bem.
‑ Eh, cachopa!... Eh, tu!
Volta‑se para o capataz; um calor vai‑lhe à face.
‑ Senhor!...
Julga‑se nua no meio da resteva, devorada pelos olhos do capataz ‑ beliscada pelos seus desejos.
E deixa descair a mão com a foice até às coxas, como a tapar o sexo.
‑ Senhor!...
‑ Não te mandei ao almoço?!...
‑ Já lá não presto, seu Francisco.
- 'stá bem! Vai‑te lá...
O ceifeiro rebelde olha para trás e maneja a foice aos sacões. O Francisco Descalço está ali outra vez.
«Se pudesse ceifar todos os Franciscos Descalços que andam neste mundo... Ah, rapazes!... Aquilo não havia dia nem noite. Nem fome, nem sede. Enquanto a seara não fosse toda abaixo, as suas mãos não baixariam de cansaço.?
A rapariga meteu‑se entre as outras, a cortar e a engavelar. Os mosquitos picam‑na ‑ menos, porém, que os olhos do capataz.
Sente‑se defendida entre as companheiras e canta.
O sol fica mais vivo. Parece ferro em brasa que pousa nos dorsos dos ceifeiros e faz chagas.
‑ Auga!
‑ Vai auga!...
Um ou outro bebe. O respirar apressado confunde‑se com o ramalhar das espigas.
‑ Já vieste, Rosa?
‑ Então!... Aquilo não me serve.
‑ fis douda...
O almoço não tarda muito. Já lá abaixo se ouve o badalar dos chocalhos dos bois que voltam à mota.
Os ceifeiros entregam‑se ao trabalho com afã, mais para devorar o tempo do que as espigas.
As bocas estão pastosas e nem a água as refresca.
Os capatazes olham os relógios e chegam‑se uns aos outros, nos capelos das travessas, a chuparem nas pontas dos cigarros.
‑ Já vai quase fora este quartel, ó Francisco!...
De ceifeiro em ceifeiro, a notícia corre por todo o rancho.
As mãos também a ouviram, pois arrepanham com mais alma os pés do arroz. Nas foices brilham reflexos novos. Têm azougue que serpeia dentro da sua lâmina, mais afiada do que antes; talvez o tempo passe mais depressa.
O rancho esqueceu as cantigas e só sabe que a alguns passos dali o almoço magro ferve nas marmitas.
O ceifeiro rebelde pensa que depois do almoço a faina recomeça.
E recomeça mais dura. E vai até o Sol morrer nos montes da outra margem do Tejo.
No outro dia, ao alvor, pegam de novo na foice. Dia a dia, todos os dias, a foice pesará mais. Podia servir para brinquedo de criança ou diadema de noiva ‑ parece prata ao sol quando a compram pela primeira vez.
A cada nova hora, porém, a foice tem metamorfoses.
Ora fica leve como pluma, ora carrega como barra de chumbo.
Para o ceifeiro rebelde não passa de grilheta que o prende à terra, em cumprimento de pena por males que não fez.
A caverna do peito é nave vazia onde se desdobram angústias.
As angústias do ceifeiro rebelde tornam‑se maiores do' que as dos camaradas ‑ ele sente os pesares de toda a malta que ali moireja.
No seu peito todas as dores encostam a cabeça e ali deixam um vínculo de amargura. E aqueles vínculos são estradas que findam na sua cabeça, onde o desalento, porém, não caminha.
O ceifeiro rebelde tem bússola ‑ bússola que marca um' norte. Por isso ele olha a terra com olhos diferentes, onde o oiro das searas se reflecte.
‑ Já vai quase fora este quartel, ó Francisco!...
A malta lança‑se ao trabalho com ardor ‑ mais para devorar o tempo do que as espigas.
E algumas cachopas vão atrás a respigar, de bracitos débeis que nem folhas de tabuga.
Os capatazes olham‑se sem palavras. Têm os relógios na mão e o ponteiro maior já cruzou o risco das horas.
‑ Mais três! ‑ pergunta um.
‑ Vá lá cinco!... ‑ emenda o outro. ‑ É muito, ó seu Custódio!
‑ Qual muito, homem!... Com a alma que têm para o almoço, até iam mais dez.'
‑ Por isso mesmo, seu Custódio.
‑ O Manel está tenrinho nisto! Vê‑se logo que é a primeira vez que manda pessoal ‑ disse com desdém o Francisco Descalço.
‑ Lá isso...
‑ A eles não faz diferença e ao patrão dá‑lhe jeito. S'a gente não vai a puxar para quem paga, não nos prantam aqui. Acaba‑se a raça!
O Manuel Boa‑Fé ficou, em silêncio, a recordar os seus dias de alugado.
«Aquilo não se afigurava justo, mas era do ofício. Mais ainda lhe custara em garoto a acostumar o corpo tenro às fainas e tudo tinha ido. Cá neste mundo uns são lobos e outros são ovelhas. E enquanto houver dois homens não há lei diferente.»
O capataz da gente dali, dos rabezanos, como os gaibéus lhes chamam, pousara o cotovelo no marmeleiro e cofiava o queixo com a mão.
‑ Em contas, enquanto andou na escola, não havia outro que me pusesse o pé à frente. Aquilo era conta cá, conta lá.
‑ São... são... setenta pessoas.
A ceifa vai sempre adiante ‑ sempre adiante, porque lá em baixo, no aposento, o Agostinho Serra está a fazer contas ao que colhe e ao que paga ao pessoal e à Companhia.
‑ Setenta pessoas a cinco minutos,... Setenta pessoas a cinco minutos... Sete vezes cinco... Sete vezes cinco... Trinta e...
‑ Trinta e três...
Os outros fizeram um gesto de aborrecimento para o que
interrompeu.
‑ Trinta e cinco!
À frente dos olhos as contas projectavam‑se no espaço. Fez um gesto com o dedo, como a puxar abaixo o zero que faltava.
‑Trezentos e cinquenta minutos.
‑ Ena, pai!... Olha que ainda faz uma conta. Quantas horas dá em cada quartel?
O Manuel Boa‑Fé lembra as horas aos companheiros. Os outros riem‑se e olham‑no como aprendiz de ofício.
‑ Eh, gente!... Desferra!...
‑ Desferrem lá!...
O grito vai Lezíria fora e soa aos ouvidos dos ceifeiros, em estridências de festa.
Os corpos repetem‑no em silêncio.
‑ Desferra!...
O badalar de um chocalho di‑lo também!
‑ Desferra!
O ceifeiro rebelde olha o relógio e cicia uma praga danosa.
TRÉGUA
Foram saltando aos camalhões, de braços a bambolear pela fadiga, pernas em cadência frouxa e troncos engibados pendidos à terra.
As cachopas beliscam‑se e riem‑mas o seu riso soa a falso.
Levam nos quadris casacos velhos assolapados de remendos que lhes defenderam os rins da brasa do sol. Os rapazes passam agora pelas rãs que chapinham nos charcos e não atiram torrões para as espantar.
As rãs coaxam a sua liberdade.
As flores crescidas nas travessas dobram‑se e desfolham‑se à passagem do rancho e só a erva unha‑gata o defronta, picando as pernas às raparigas. Os ceifeiros que chegam ao carril tiram as caldeiras dos ganchos do cambaricho e sentam‑se no chão ou na linha erguida à borda do arrozal.
Já as mulheres que deixaram os filhitos ao abandono por ' ali os apertam entre os braços e os animam, beijando‑lhes as faces sujas de terra, amassada com lágrimas. E eles buscam‑lhes, com as bocas rebentadas de feridas, onde as moscas pousam e o ranho criou crosta, os peitos escorridos, beliscando‑lhes nas blusas a sua fome.
‑ Ah, raça de cachopo! Dá‑lhe de mama, mulher.
‑ Vai blusa e tudo. se não lhe acodes. Isso é que é um comilão!
A mãe afaga‑lhe os cabelitos ralos, tendo nos dedos duros carícias brandas que o fazem pairar e sacudir o corpo em sacões de alegria.
‑ Ah, rico filho, tu tens fominha, não tens?...
‑ Come tu, cachopa, que bem no precisas. Se não tens tento na cabeça.....
E a mãe tosse, pondo a mão na boca; vêm‑lhe às faces afiladas duas rosetas brandas, que se desfazem depois na cera do rosto. Ergue o filho nos braços, como a vê‑lo bem, brincando‑lhe nos olhos duas gotas que lhes dão mais brilho.
‑ Ah, meu Zèzinho...
E puxa‑o de novo a si, beijando‑lhe o ventre inchado.
Todo o rancho está no carril para o almoço.
Formam grupos dispersos, caldeiras ao lado das foices, e vão mergulhando as colheres no caldo negro dos feijões, onde ralas olhas de azeite põem pontos doirados.
Os ceifeiros não falam. Ouve‑se o zuído das abelhas e o ramalhar das espigas com a aragem. As fogueiras estão morrinhentas e empestam o ar do cheiro acre da resina queimada.
Há alugados que nem caldo fizeram para o almoço. Pão e duas petingas chegam para enganar o estômago. E o pão enrola‑se sem saliva, como um naco de sola que os obrigassem a comer.
Vão mastigando, de olhares vagos, embrenhados nas teias dos pensamentos, com os canivetes a cortar pedaços de pão que engolem depois.
Sentado num monte de lenha, um ceifeiro ficou isolado. O panamá ruço cai‑lhe até às orelhas e confunde‑se com a barba que lhe assolapa o rosto, onde só os olhos têm luz ‑ luz mortiça. Mete o canivete na caldeira a espetar as batatas cozidas e leva‑as à boca sem lhes tirar a pele.
‑ Eh, Pananão!
Ele levanta a cabeça e sorri, num esgar que mostra as gengivas desdentadas.
‑ Nem falas, homem. Quando estás de volta da palhada, nem muges.
Ele sorri de novo e meneia a cabeça, coçando no panamá.
‑ As cachopas estão aqui, homem.
As raparigas riem, cochichando entre si. Por todo o rancho passa um sorriso.
O Pananão quer mulher e não a acha.
Por isso se foi pôr longe dos outros, sentado no monte de lenha para ver melhor as cachopas do rancho.
Ele é homem como os outros e os braços não se recusam ao trabalho. Nas cavas ou nas mondas, nas ceifas ou nas vindimas, todos os amos o querem; é alugado pouco respingão e quem vai à sua ilharga tem de lhe dar com alma.
Mas nunca mulher alguma o quis por companheiro. Nunca mãos de fêmea lhe passaram pelo rosto ‑ nem as da mãe, que se finou, quando o teve no pinhal do Zé Manso.
‑ Anda pr'àqui, ó Pananão!
‑ Chega‑te ao borralho, homem!...
O outro pisca‑lhe o olho, numa careta, inclinando a cabeça para o lado das mulheres.
E ele sorri, aparvalhado; imagina a rapariga que há‑de sair do barracão, à noite, não sabe quando.
‑ Volta‑te aqui à Angélica, que ela anda d'apetites.
‑ Ah, sê Chico...
‑ Então, mulher! Olha que o moço está em primeira mão e há‑de andar com uma fome...
Cruzes, Senhor!... Era capaz de me comer a cachopa.
E todos riem. O Pananão afasta os olhos do rancho e fica‑se a mirar os longes, onde nuvens pardas se acastelam, a cobrir os montes.
‑ Juntava‑se a fome e a vontade de comer, mulher! Era deixá‑los à solta e prantar‑lhes caixão à banda. Nem tempo havia para a bucha.
‑ Olha como vossemecê sabe dessas!
‑ Não havera de saber. Se ele já matou duas... ‑juntou outra.
‑ Mas não foi disso. Foi de fome, cachopa! Ajeita‑te por ali que vais bem.
‑ Graças a Deus, não preciso de encomendas. Quando quiser homem, bem no sei ter.
‑ Lá nisso não és tu esquerda, não... Mas olha que comaquilo, folgado e são, não adregas tu outro.
‑ Tome‑o para si se lhe der ganas. Cá por mim, dou‑lhe de mão.
‑ Outro gosto me desse o Santíssimo do altar.
No rosto do Pananão há mais sombras. Pôs de lado a caldeira vazia e já não vê nem ouve os outros. Fica só com os seus pensamentos ‑ uma noite também há‑de ter mulher que saia com ele.
O ceifeiro rebelde pega na foice e senta‑se no sopé do monte da lenha, recostando a cabeça nos cavacos. Só ele não brinca com o ceifeiro desdenhado.
Olham‑se e compreendem‑se.
O ceifeiro rebelde cerra os olhos e parece que sonha mas pensa.
Um a um, os alugados vão‑se erguendo, para lavar caldeiras e dispor o jantar, com outros Ímpetos ganhos pelo descanso. Conversam e riem.
Só as mães ficam sentadas a embalar os filhos, em cujos rostos andam sorrisos de sonhos lindos.
Elas olham‑nos, embevecidas, debruçando‑se nos seus corpitos mirrados, e esquecidas da ceifa e dos pesares.
ó papão vai-te embora...
Sacodem as moscas que querem pousar nos seus meninos, aconchegando‑lhes mais os bicos negros dos seios sem viço. Aquelas mãos que as vão afagando não lhes dão ao corpo frémitos de desejos. São alentos que nascem para matar fadigas.
... De cima desse telhado...
A mãe doente tosse. E aperta os lábios com a ponta do lenço, não vá o filho acordar.
Que noite lhe vai dentro!...
As moças galhofam, derriçando com os rapazes, em prelúdio de momentos febris, no fundo de algum palheiro ou por detrás de valado. E ela lembra‑se da noite em que se dera àquele homem que nunca mais voltou.
Era um moço galhofeiro e desempenado que nem varapau. Todas as cachopas do rancho da monda o desejavam com febre de virgens.
No bailarico nunca parava ‑ ora com uma nos braços, ora com outra. Ali não havia homem da sua igualha. Ela não vira ainda outro assim ‑ e não o veria jamais.
As calças justas às pernas, levemente arqueadas pelo jeito de cavalgar, faziam‑no mais esguio e davam‑lhe um ar de senhor. A faixa vermelha parecia quebrar‑lhe a cintura, donde o busto crescia amplo, a definir‑se‑lhe na camisa, sempre branca, que mal parecia andar por ali no trato das éguas. E a carapinha de sangue do seu barrete verde ia‑lhe tão bem ao rosto tostado pelas soalheiras que todas as cachopas do rancho da monda o desejavam com febre de virgens.
Numa noite de folgança viu‑o dançar o fandango com outro rabezano.
E nunca mais o esqueceu.
Ele tirou a jaqueta, cingiu mais à fronte a carapinha do barrete, e pondo as mãos nas ancas foi marcando, com passos largos ao lado, o ritmo daquela música estranha que ainda agora ouvia, saltitante nos seus ouvidos. O maioral dos bois dedilhava o harmónio, a sorrir, e todo o corpo se balouçava acompanhando a melodia, em recordação dos seus tempos de moço ‑nenhum outro lhe batia o pé, contava a gente do seu lote.
Todos os criados da casa se tinham chegado à roda que ali se fandangava, pois os homens da Borda‑d'Água, quando ouviam aquela música, logo se desafiavam para a bater.
E agora estavam frente a frente os mais safos dançarinos daquela emposta. Por isso os criados da casa tinham vindo das motas, quando o harmónio começou a tocar.
Os olhos andavam de um para outro, a seguir‑lhes o mover dos pés e a expressão dos rostos arfantes. Mas ela só o via, esguio na calça afiambrada, cingida pela cinta vermelha, e bonitote no rosto alegre que o barrete frígio afestoava.
Estava ali, pimpão como a cavalo na sua «faca», tronco desempenado, cabeça ao alto, barrete a saltitar. E os seus pés, ora marcando compasso com o tacão, a acompanhar a melodia desenvolta, ora desenhando no espaço fantasias, traziam suspensos os olhos que os seguiam.
Agora tinha‑se acocorado e os pés moviam‑se, batendo bico e tacão, de busto sempre firme, e mãos a arrepanhar os quadris.
‑ Aí, rapaz duma cana!... ‑exclamara um valador, incapaz de se empinar no fandango pelos largos anos de labores a engrossar valados e a limpar abertas.
O rival imaginava o seu repertório, para opor àquela avalancha de bilros que os pés dele teciam. De quando em quando, saltava presto que nem gamo e tocava os sapatos no ar, como se fosse erguer‑se para um voo largo.
E voltava a marcar o compasso, tendo a cada momento um novo bordado para desfiar.
Arfava‑lhe o peito e o rosto estava lívido. Mas tinha sempre na boca aquele sorriso garoto que trazia viradas as cabeças das cachopas do rancho.
Embalando o corpo, o maioral dos bois não parava de dedilhar o harmónio. Os criados tinham nos olhos uma expressão febril e acotovelavam‑se, esfregando as mãos. Ela só o via, esguio na calça afiambrada, cingida pela cinta vermelha, bonitote no rosto alegre que o barrete frígio afestoava.
‑ Parece que lhe falam os pés, alma do Diabo!
Ela pensou que lhe diziam palavras novas que os namoriscadores nunca lhe tinham segredado. E pôs‑se a ouvir o matraquear das solas no terreiro da dança. Era uma canção mais bonita do que a melodia que os repregos do harmónio arfavam.
As pernas agora abriam‑se e fechavam‑se, pareciam às vezes enrodilhadas uma na outra, como braços de videiras enlaçados. Os olhos dele estavam nos seus e parecia que os sorviam, misturando‑se. Sentia‑os confundirem‑se e ficarem gémeos. E os olhos dele já não eram castanhos, cor de fogo quase. Tinham laivos azuis emprestados pelos seus olhos claros. Depois os olhos eram só azuis, azuis como os seus. E aos seus sentia‑os castanhos, cor de fogo, quase, ardendo numa fogueira que lhe afogueava o rosto e esbraseava o peito.
À sua volta tudo se consumira. A música era um eco distante que lhe brincava nos ouvidos e não ia mais além.
E a malta que rodeava o maioral dos bois e os fandanguistas tinha toda um rosto moreno, irmão do eguariço, e uns olhos azuis com laivos castanhos, cor de fogo quase.
Pendeu a cabeça no peito, revendo‑se no filho, débil no seu corpo franzino.
Via‑o agora crescer‑lhe nos braços, usar cinta vermelha e barrete verde, ter no rosto um sorriso gaiato, e estar ali ao afago das suas mãos, dizendo‑lhe as mesmas palavras daquele eguariço que a possuíra.
As mulheres andavam a dispor as caldeiras para o jantar, junto dos cambarichos, levando nos pratos de esmalte o feijão furado, o arroz de refugo e a massa negra.
Havia risos e galhofas ‑ mas ela não os ouvia.
Ela não os ouvia, porque tinha ali, ao afago das mãos, o rapaz do barrete verde...
Rapaz de barrete verde E carapinha encarnada...
Entendia agora aquela cantiga que não sabia se vinha de alguma voz, se das suas recordações.
Era uma canção do passado ‑ do passado que tinha entre os braços, a dormitar.
Não deites pra cá o olho, que daqui... não levas nada.
Os olhos dele confundiam‑se com os seus e eram gémeos na cor e na expressão.
Já o maioral das éguas deixara de matraquear o terreiro e de conceber desenhos ‑ desenhos que ela gostaria de aprender e bordar no seu saco cor‑de‑rosa, com borlas verdes.
Já o rival procurava excedê‑lo em exuberância de fantasias. O busto estava firme, como feito a pedra e cal, e só as pernas se moviam em elasticidades que deslumbravam.
E ela viu o eguariço afundar as mãos nos bolsos e abrir depois a sua navalha, que atou à barriga da perna ‑ e a ponta afilada, reluzente no seu metal, parecia querer acutilar‑lhe a carne da outra.
A um gesto, outro rabezano deu‑lhe mais uma navalha. E as duas lâminas ficaram frente a frente, cruzando as pontas como para um combate.
Ele guardava o seu sorriso de sempre ‑ mas as cachopas do rancho desejaram‑no mais do que nunca.
Nos olhos dos homens da Borda‑d'Água brincava agora luz mais brilhante, pela feição que a luta ia tomar. Do harmónio, a melodia soltava‑se mais alegre e azougada.
Quando o outro cessou, juntando os dois pés, a estancar a torrente de fantasia, ela estremeceu, como estremeceram as lâminas das navalhas, mal o eguariço saltou. A malta ficou ansiosa, como suspensa de vida. Só a melodia era mais alegre e azougada. Só as pernas dele falavam a toda a gente que se postara de volta.
As pontas das navalhas cruzavam‑se e feriam‑se em frenesi alucinante, a marcar compasso, de parelha com os saltos de prateleira que batiam no chão. E os pés tinham mais fragilidade ‑ dissipavam‑se como fumo batido por suão, tinham a leveza e a graça de um arroio a saltitar.
Parecia que no espaço ficava um emaranhado de filigrana a doirar ao sol.
Ela julgava ver corações a desprenderem‑se do bico dos seus sapatos ‑ corações que se uniam e ficavam num só, onde luziam duas pedras verdes com laivos castanhos.
E as lâminas das navalhas queriam espicaçar o coração e as duas pedras verdes com laivos castanhos. Mas elas fugiam e iam esconder‑se nos olhos do eguariço, onde luziam mais.
O harmónio falava agora na história das duas pedras que brilhavam no coração de filigrana e tinham ido buscar refúgio nos olhos do...
Rapaz de barrete verde E carapinha encarnada...
Ela ficou a ouvir aquela história e esqueceu‑se dos que estavam à sua volta.
Tinha ficado só ‑ só com os seus sonhos.
O bater dos saltos era o tropel de uma cavalgada que passava envolvida na poeira do caminho e no poalho do sol. O tinir das navalhas era o cruzar de lanças que se feriam em relâmpagos que deitavam fogo ao coração de filigrana.
Quando veio de novo ao contacto dos outros, o valador alquebrado cantava num sussurro:
Os pés do eguariço estavam agora tomados de loucura para logo depois caírem quase em êxtase, como a fazer preces.
Eram duas vontades distintas com cérebro próprio. Os movimentos saíam harmónicos, mas tinham um cunho diferente. As atitudes eram irmãs, mas expressavam anseios diferentes.
... Tu és o Zé d'Abrigada E eu sou o Manel á'Abreu.
E os dedos do maioral dos bois dançavam nas teclas como sofrendo da mesma volúpia dos pés do eguariço.
Este tinha a testa encamarinhada de suor e o peito às upas, mas no rosto guardava sempre o mesmo sorriso.
O sorriso que a boquita desbotada do filho desfolhava.
Havia corpos deitados pelo chão, subjugados pelo cansaço e pelo sono. Estavam de borco alguns deles; como a defenderem‑se das moscas que lhes zuniam à volta, cruzavam as mãos por baixo da testa.
Os capatazes estavam reunidos à sombra de um salgueiro e dali vinham gargalhadas. As gargalhadas do Francisco Descalço vincavam tristezas no rosto afogueado da Rosa, a seguir, só com os olhos, a estrada de um formigueiro.
O Sol andava de novo envolvido em nuvens que iam caminhando para o norte, ora em rolos, ora esfiampadas.
A seara ficava menos garrida sem o cáustico da sua brasa.
Os companheiros que não tinham ainda as caldeiras ao jeito dos cambarichos iam e vinham no seu preparo.
Gozavam a primeira hora de trégua.
Mas aquela trégua tornava‑se mais dolorosa do que o tormento da sede e o abatimento da labuta.
Lá em cima, no céu, o Sol fazia ventas. E os homens olhavam‑no a querer adivinhar‑lhe os propósitos.
‑ Eh, Manel!, que tal?...
‑ Isto dá borrifada, pelo menos. Não estou a gostar nada de as ver assim a enrolarem‑se. Nuvens pró norte, chuvas prà
porta.
E os rostos ficaram num charco de angústia.
‑ Logo pró primeiro dia é um raio dum ensejo... Isto é que é uma gaita!
‑ Ó que gaita!... Lá minga o alforge...
‑ Que s'isto vai assim, bem fica só no pano.
‑ Rói‑se um corno! Já se come alguma coisa... Calaram‑se motejos e risos. Os homens têm o destino nas
mãos do Sol! E o destino que o Sol lhes anuncia parece‑lhes sol‑posto forçado.
‑ Isto é que é uma gaita!...
‑ Ó que gaita!
Os ceifeiros que dormitam não vivem aquelas dúvidas ‑
sonham.
E os sonhos deles talvez lhes façam ver uma seara pujante de espigas, uma seara ceifada por todo o rancho e para todo
o rancho.
Nem mesmo os mosquitos e as vespas, que lhes zunem à volta e os espicaçam, os acordam. Estão vencidos pelo torpor da faina e talvez embalados no berço dos seus sonhos.
As mulheres vão consertando farrapos ou adormecendo os cachopos. E algumas são catadas por outras, tendo os cabelos soltos nos regaços das companheiras. Os dedos que se mexem ligeiros nas cabeças transmitem‑lhes indolência. E as outras parecem que contam os pesares com a ponta dos dedos.
‑ Ah, mulher, que cabeça tu tens!... Bem podes dizer à fateira que traga cevadilha da vila. Bem podes...
À boquita do filho vem de novo o sorriso do eguariço.
Andou‑lhe sentindo o arcaboiço de choupo toda a tarde. Bem via nos olhos das outras cachopas um despeito a crescer. Mas ela era outra e não entendia bem os olhares das companheiras.
Estava ali, aperreada nos braços dele, vaidosa da preferência, mal lhe tocando a camisa com a mão calejada. Não tinha dentro de si ‑ bem se lembrava ‑ qualquer desejo com rumo. O harmónio cantarolava bailaricos e valsas serenas e ela gostava de rodopiar ‑ embalar‑se nas músicas compassadas ou entregar‑se nas modas buliçosas e rodares ligeiros, como numa fuga.
Na dança todos os pesares se evadiam de si e a deixavam só.
Uma diferença notava agora ‑ ia nos braços do rapaz de cor morena que usava barrete verde e carapinha encarnada. E parecia‑lhe, às vezes, que não estava ali. Perdia a noção de si mesma e julgava‑se viver nos olhos dele, castanhos cor de fogo quase, mas que tinham depois laivos azuis.
Estava vazia de outros pensamentos e desejos que não fosse o de bailar com o rabezano mais escorreito da emposta. A mão que lhe apertava o quadril não lhe falava, à carne. Lembrava‑lhe rimances ouvidos ao borralho, nos mochos da lareira, como os amores da «filha do Conde Real» ou a «Branca Flor».
O harmónio contava‑lhe, a espaços, a história do coração com duas pedras que fugira para os olhos de um campino.
«‑‑A menina é muda?...»
Levantou os olhos e imaginou‑se afogueada, dentro das pupilas do maioral das éguas, tão grande calor sentiu no corpo.
«‑Não senhor. Eu é que julguei que vossemecê não falava.»
E calaram‑se de novo.
E rodopiaram com mais viveza na volúpia da moda.
Ele pensou que a cachopa tinha um corpo galhardo e uma cara de Nossa Senhora. Apertou‑a bem e arrepanhou‑lhe mais a saia de casteleta.
Ela lembrou‑se de que os olhos dele tinham roubado a cor dos seus e sentiu a mão a cingi‑la. A mão não lhe falava à carne, mas já não dizia dos amores da «filha do Conde Real ou da «Branca Flor».
«‑ Como é a sua graça?
‑ Não na tenho.
‑ Não diga isso!... Não foi baptizada :
‑ Fui, sim senhor.
‑ E não tem graça?
‑ Parece‑me que não senhor.» E riram ambos.
‑ Está‑me a troçar?
‑ Para que quer vossemecê o meu nome?
‑ Para o ouvir. Deve ser bonito...
‑ É para prantá‑lo nalguma cachopa que a sua mulher está para ter?
‑ A menina sabe como é que a gente cá na Borda‑d'Água chama ao que está a fazer?»
Só os olhos dela responderam.
‑ É estar a atravessar a charrua.
‑ Que raça de nome!...
‑ Mas é certo. Eu vou à soga e a menina à rábica. E, por mais que eu leve as juntas a direito, vossemecê entorta a mão e lá se vai o lavrar.»
E um sorriso passou‑lhe no rosto.
No terreiro tinham ficado só os dois. Os outros pares cirandavam‑lhes à volta, mas eles não os viam.
A música calara‑se para sempre. Arrastava‑os na dança a melodia das suas palavras e dos seus anseios.
O eguariço sentia a presa ali à mão. Aquilo bastava dar‑lhe um jeito, andar‑lhe à volta como milhano e espreitar estorninho, e a coisa fazia‑se.
«Que aquela vida, se não fossem as mondas e as ceifas com cachopas de veludo, assim a modo éguas mansas, era pior ainda que desterro nas Áfricas. Mas naquelas alturas nem tempo havia para deitar contas à jorna. Era fartar de fêmea, que pelo Inverno os trabalhos vagavam e se não fosse a menina Ganha...»
E então gaibéus e carmelas, que nunca tinham ensejo de criar cama... Iam e vinham como as cheias ou como as cegonhas.
Às vezes lá davam a sua carpidela, esmoncavam‑se em queixas, mas a coisa acabava para sempre com a ida para a terra, sem mais tormentas. Só lá muito ao raro um borda‑d'Água se tinha de defrontar a cacete ou à navalha com algum capataz mais cioso ou homem de família.
Pelas ceifas de trigo crescia o regabofe ‑ era à tripa forra. Os corpos andavam amolentados pela canseira da foice e do sol; as noites punham‑se compridas que nem semanas e bonitas que nem para sonhar.
Volta na vira, se o patrão não estava na emposta, ou se não era fona, toca de se armar brincadeira. Se não havia harmónio, ia mesmo com gaita de esfola‑beiços. E era moer até às tantas. Quase sempre um homem se governava. Então, sendo campino, era coisa certa. Mas se lhes dava para o arisco, lá havia noite de vela.
As poisadas requentadas que nem fornos não apeteciam. Então as raparigas vinham estender‑se nas mantas, ao relento. Ficam para ali como éguas na resteva. Mal se deitam abaixo, logo ressonam. E tanto se lhes procura o jeito...
Mas com aquele arroz‑doce que tinha entre os braços, a coisa ia com vento na vela grande. Já conhecia o modo de olhar e o tom da fala. Mesmo sem negaça, era pássaro na rede.
E apertava‑a mais a si, sentindo‑lhe os pomos rijos e empinados a cravarem‑se‑lhe no peito.
A mão calejada pela vara cingia‑lhe o quadril, toda desejo.
Ela ouviu no corpo um grito novo. Sentia‑se arfar, como se estivesse transida de pavor atravessando o Brejo, lá na terra. Mas não era medo que ela sentia. Era um líquido em fogo que lhe andava em vertigem nas veias dilatadas.
Num vaivém constante, ora o corpo se lhe avantajava, ora se mirrava e sumia, como onda a fazer‑se e a quebrar‑se.
E quando o corpo desaparecia, não Se ocultava agora aos olhos castanhos, cor de fogo quase, do eguariço. Ia‑se escoando aos poucos naquela mão adunca que lhe acordara a carne, só sentida até ali para os cansaços das labutas e para a tempestade das sezões.
Sentia que dentro de si nascera outra alma estranha à sua. Lembrava‑se de lhe dar conselhos, atinada, vindo‑lhe à boca palavras de salvação.
Mas as palavras despegavam‑se umas das outras e enrodilhavam‑se e confundiam‑se, por mais que as quisesse juntar. E iam escorrendo, lá para dentro, perdidas na noite que descera.
Só ficava a outra que não sabia falar, mas pelo peito segredava coisas de amor ao eguariço. Acabara por se amarfanhar, vencida, recordando lamentos que lhe contavam as velhas do rancho.
«‑Se tu soubesses o que sucedeu à Adelaide... àquela mais loira que o sol e mais fresca que um lírio...
«E à Maria Rosa... E à Glória...
«E a todas as Glórias, Marias Rosas e Adelaides... Se tu soubesses...»
Mas a outra não ouvia as lembranças, porque nas suas veias dilatadas corria em vertigem um líquido de fogo.
«‑Se tu soubesses...»
A outra não ganhava mais tino, nem pensamentos ajuizados ‑ tinha só o corpo E o seu corpo só ouvia as mãos do maioral.
«‑Depois da ceia espero‑te na mota.»
Bem gostaria de lhe dizer que não fosse, bem gostaria de lhe lembrar o que sucedeu àquela mais loira que o sol e mais fresca que um lírio... Aquela que murchou e não foi mais lírio. Aquela que foi sempre loira, mas foi sol de todos ‑ sol que não aquecia alguém.
«‑Se tu soubesses...»
Mas a outra não a podia ouvir. A sua voz tornara‑se distante e débil.
E a voz calou‑se, cansada de bramar sem palavras.
Então, a outra ficou sozinha, sem memória, enlevada nos novos desejos. Tinha os olhos azuis mortiços de luz e a respiração apressada. Sentia o corpo vencido por torpor macio, como se nele entrasse sol‑posto ‑ mas ela estava virgem para o amor...
«‑Já sabes a tua graça?»
Sentaram‑se no varal de uma carreta, enquanto quatro pares se cruzavam num verde‑gaio das carreirinhas.
Eles levavam‑nas pela cintura e desenhavam um círculo no terreiro, como se seguisse cada par um destino diverso. Depois encontravam‑se de novo e os dedos estalavam, erguidos os braços ao alto, enquanto os pés se esmeravam em passos afandangados.
Os pares iam girando à garrulice da música, até novo passeio enlaçado. Naquele momento adivinhavam‑se palavras que faziam realçar o simbolismo da marcação.
«‑Bonito nome! Que a dona... outro não merecia. Depois da ceia apareces na mota...»
Mantinham as mãos unidas ‑ ela sentiu que as mãos dele ardiam.
Ardiam como um pedaço de sol que tivesse caído à terra.
Não havia entre ambos lugar para angústias.
O chocalhar das éguas repicava, a espaços, mas o eguariço não entendia que o chamavam à vida ‑ à vida das soalheiras e das tempestades.
Segurava entre as suas mãos ardentes as mãos abandonadas de uma gaibéua vencida. Sentiu‑a entregar‑se por inteiro, embora só os dedos se cingissem e afagassem.
Os olhos e as mãos não podiam mentir. Ele já possuíra tantas fêmeas quantos garranos cavalgara e sabia de cor a expressão dos olhares e as carícias das mãos.
Largou‑lhe os dedos e pôs‑se a enrolar um cigarro, assobiando baixo. Ela foi franzindo o avental e ficou de cabeça pendida, num jeito de abandono. O eguariço pensou que talvez amanhã, pudesse contar na mota, aos outros criados, aquela nova aventura. Bem ajeitada, com roupa da casa, era coisa que dava uma boa meia hora. E os camaradas gostavam de lhe ouvir as histórias com mulheres, como se voltassem à meninice para escutarem lendas de pastores e de príncipes.
Na sua linguagem marota, ele sabia melhor do que nenhum outro provocar a gula dos homens que se juntavam a conversar ao borralho.
Nas noites agrestes, com o vento a zunir no zinco dos telheiros, tratadas e recolhidas as cabeças de gado, os contratados da casa iam para ali fumar cigarros e contar lamentos.
«‑ Um frasquito com uma pinga de água‑choca, cinco mil réis. E o que é que a gente come? Com quatro rapazes que nem lobos...»
E então, para espairecer, voltavam‑se para o eguariço e pediam‑lhe que contasse uma das dele.
«‑ Ó Luís!... Vá lá uma!»
Começava por desculpar‑se ‑ «que aquilo não era fole de ferreiro», «nem as mulheres lhe caíam nas mãos como tordos».
«Conta lá aquela da gaibéua do Fatel, homem!...»
Puxava a cinta arriba, punha a beata ao canto da boca e, apoiando os cotovelos nas coxas, sempre se resolvia. Os outros, conhecendo‑lhe o jeito, iam arrastando os tropeços para junto dele.
‑ Eu ia a cavalo na Estrelada, que era uma égua viva e a modo encarniçada como fogo. Era uma estampa, como outra não havia aqui na Borda‑d'Água. Tinha os pés calçados de branco, certinhos que nem polainitos. E a malha branca da testa parecia feita a pincel. Meti todo o caminho «à falhica», que até levava asas. Ah, rapazes!... nem o vento me levava a dianteira!...»
Os companheiros ficavam‑se a ouvi‑lo, enlevados, embora soubessem que ele «metia palha a mais na enxerga».
Lá para o Inverno, nas noites de borralho, o eguariço teria então mais uma história para contar aos camaradas.
«‑ Era uma gaibéua de olho azul que nem a flor do almeirão. Desenxovalhada e bonita de cara que nem uma Nossa Senhora.
Bati o fandango com o Zé Miguel e ganhei‑lhe. O raio da rapariga parecia que me queria comer com os olhos. Retraçava‑me que nem maltês esfomeado a retraçar uma bucha. Aquilo foi andando... olho cá... olho lá...»
Quando acabou de enrolar o cigarro e a pederneira faiscou, ela continuava a franzir as dobras do avental e tinha ainda a cabeça pendida.
Pensava na Adelaide, na mais loira que o sol, na Maria Rosa... na Glória.
E em todas as Glórias, Marias Rosas e Adelaides que encostaram os seios aos peitos de eguariços da Borda‑d'Água.
Ele estranhou a expressão de receio e pegou‑lhe na ponta do queixo.
O contacto da pele macia fê‑la sentir uma carícia por todo o corpo.
«‑Estás a modo triste... Deixaste conversado lá na terra?... Fala, mulher!... A gente a falar é que se entende.»
Os olhos dela tinham ganhado a mesma luz mortiça. Sentia que os seus olhos eram irmãos dos do maioral ‑ azuis com laivos castanhos, cor de fogo quase.
Mas a dúvida persistia, porque a outra ainda se não apagara de todo dentro de si. Os braços dele não a cingiam e a modorra que lhe entrara no corpo era agora mais frouxa.
«‑ Que diabo de enzonices tens tu na cabeça?!... Foi uma coisa assim de repente. Anda aí ralé a moer, de certeza!»
As palavras morriam‑lhe na garganta. E continuava silenciosa.
Ele calou‑se também e ficou a seguir os rodares largos das saias e o saltitar dos barretes, impelidos pela viveza de uma «valsa maluca».
A noite viera enfeitada de luzes. Ele olhou as estrelas e pareceram‑lhe rodízios de oleiro. E os rodízios fizeram‑lhe lembrar as curvas entufadas das bilhas vermelhas pelo zarcão. Agora não eram as curvas das bilhas que a retina fixava na noite, mas o colo alto da gaibéua de olhos azuis sentada ali à sua banda, tendo no rosto uma nuvem triste.
Sentia a cabeça em fogo e as mãos tremiam‑lhe. Todo o corpo amolecido.
Só a sua vontade não amolecia ‑ mais do que nunca, ele queria ter nos braços a gaibéua com cara de Nossa Senhora.
A carapinha do barrete parecia labareda que lhe encamarinhava a testa de suores frios.
As suas mãos trémulas vaguearam na noite, em busca de abrigo. E foram acolher‑se nas mãos dela ‑ ela sentiu‑as mais ardentes do que nunca.
«‑ Tens alguma zanga minha?
‑ Tenho medo de vossemecê.»
Ela pensava nas Glórias, nas Marias Rosas e nas Adelaides que encostaram os seios aos peitos de eguariços.
«‑ Não sejas doida. Tenho assim modos de lobo?...»
Disse‑lhe a querer gracejar, ocultando desejos. Ela encostou‑lhe a cabeça ao ombro e viu as cachopas seduzidas afastarem‑se na escuridão. Seguiu‑as sempre, até se perderem. E quando olhou o céu, julgou conhecê‑las lá em cima, a espreitá‑la e a rir.
Elas estavam a rir porque sabiam de cor o caminho que levava. E eram tantas!...
Iria depois lá para cima também, a espreitar as cachopas que estivessem encostadas aos ombros de maiorais. Mas não riria; talvez lhes acenasse com o dedo a ensinar‑lhes que dissessem não.
E diria ao vento que viesse à desfilada pela Lezíria fora, e rebuscasse nos fundos dos aposentos, e nas camas das searas, e nos dorsos dos valados, para ensinar às raparigas que dissessem não.
Talvez essas não ouvissem o seu rogo. Ela mesma não o escutava, porque o eguariço lhe tapara os ouvidos com beijos.
Dentro da cabeça, para os tímpanos, vinham punhos fortes a querer partir as portas, para que se ouvissem os rogos daquela estrela que não ria e acenava o dedo a dizer não. Mas as portas eram de beijos e os punhos não as podiam partir.
Só talvez o vento lá entrasse. E o vento dormia. Nem uma folha tremelicava no choupo onde as cegonhas todos os anos faziam ninho. Nem uma aragem alegrava as velas que vinham de jornada pelo Tejo. Muitos barcos haviam largado ferro e os homens dormiam nos beliches. Muitos tinham metido os remos nos toletes e os homens suavam a querer vencer a calmaria.
As portas que lhe tapavam os ouvidos pareciam cada vez mais fortes.
Só se lembrou de que os olhos dele roubaram a cor dos seus.
Queria falar‑lhe, pedir‑lhe que a deixasse. Como, porém, não lhe pôde suplicar, o eguariço levava‑a a caminho da mota da palha.
Não devia ir, mas não podia contrariá‑lo. Porque se a não levasse, talvez ela lhe pedisse. Já não era a ceifeira que viera por aí abaixo à cata de trabalho.
O maioral contaria, nas noites de inverneira, mais aquela aventura aos camaradas.
«‑Era uma gaibéua de olho azul...»
O som do harmónio soava‑lhe como o repicar festivo dos sinos da capela lá da terra, e que ela ia noivar com o mais galhardo rabezano de toda a Borda‑d'Água ‑ o moço galhofeiro que as cachopas do rancho da monda desejavam com febre de virgens.
Do terreiro, onde o harmónio tocava um bailarico, chegava uma cantiga que ela entendeu.
O meu amor não é este,
O meu amor traz divisa...
Ele levava‑a bem agarrada a si. E o chocalhar das éguas mais o tilintar dos bois anunciava ao silêncio da Lezíria que iam noivar. A estrela que não ria bem o ouviu. Bem o ouviu, porque se desprendeu lá de cima e veio traçar uma lágrima de luz no escuro da noite até se apagar para sempre.
... Traz fivela no calção,
Botão d'oiro na camisa.
O botão de oiro talvez fosse a estrela que lhe acenava o dedo a dizer que não e se soltara do céu.
Vinha talvez ali na camisa dele para tentar dizer‑lhe que não fosse. Mas ela levava os ouvidos tapados com beijos e não lhe podia entender o aviso.
Por isso caminhava embalada pelo repicar dos sinos e entrou na mota da palha, sem receio.
Por uma fresta da mota só viu as estrelas a espreitá‑la.
Quando ele cerrou o postigo velho e a fresta desapareceu, não pensou mais nas histórias narradas pelas velhas do seu rancho.
Rapaz de barrete verde E carapinha encarnada...
Os homens que foram à mota no outro dia riram‑se de bom gosto.
Logo a nova correu por toda a malta.
O eguariço pôde contar mais uma história, quando o Inverno encharcou os campos e os corpos pediam borralho.
«‑ Era uma gaibéua de olho azul que nem a flor do almeirão...»
E os camaradas chegariam os trepeços para ele, porque o maioral das éguas sabia afastar‑lhes as penas da vida ruim de todos os dias.
Não deites pra cá o olho, que daqui... não levas nada.
Era uma canção do passado ‑ do passado que tinha entre os braços a dormitar.
Quis tossir, mas tapou a boca com a mão, não fosse acordar o filho. Os outros iam pelas travessas fora, levando as foices a bambolear.
Ela apertava nos seus braços o passado a dormir.
Estendeu então uma saia no carril e deitou nela o filho. Pôs‑lhe em cima um casaco ruço, remendado, e abençoou‑o com um beijo.
Depois foi pela travessa fora a tossir. Quando se voltou a olhá‑lo mais uma vez, julgou ver ali, a descansar, o maioral das éguas ‑ o moço galhofeiro que as cachopas do rancho da monda desejavam com febre de virgens.
SETE ESTRELAS NA PRAIA
As mulheres andaram todo o dia de credo na boca, mas não choveu, nem borrifou.
As nuvens enrolaram‑se e desfizeram‑se, caminhando ora ao sul, ora ao norte, sem deitar pinga. O sol fora de trovoada, sufocando os ceifeiros, como se trabalhassem na câmara de um alto‑forno, mas os trovões não acordaram o silêncio da Lezíria.
Até ao sol‑pôr aquela dúvida tomou os ranchos do mesmo abatimento.
Agora o Sol já abalou e a chuva ainda não veio. A ceia é menos amarga que o almoço e o jantar ‑ a malta ganhara um dia inteiro sem descontos. Aquela certeza empresta‑lhes coragem.
Não há ordem do patrão para armar «brincadeira» e os ceifeiros invadem o barracão, desenrolando as esteiras, onde estendem os corpos amolentados pela fadiga. Se o consentimento viesse, ainda lhe dariam um jeito, que a dança sempre esperta energias e adormece pensamentos.
Alguns a preferem ao vinho ‑ mas o vinho também não entra naquela emposta. Mesmo se tirassem à tripa, ia de mal aquele que usasse da pinga. O patrão quer os alugados leves de mão e direitos de cabeça.
A ceifa tem de ir a galope, senão chovem os quartéis suspensos e as represálias ‑ lá se vai uma hora de sol ao domingo e a licença de um dia, se algum precisa.
Por isso alguns ceifeiros se deitaram nas esteiras, entretendo os olhos com o balouçar das teias de aranha que afestoam o travejamento carunchoso do barracão. Outros ficaram à porta a conversar nas mais diversas coisas da vida. Aproveitando o círculo de luz frouxa do candeeiro, as mulheres remendam as saias e as blusas esfarrapadas. As palavras que trocam mal passam dos lábios; parecem recear que a noite acorde e a trovoada estale.
Os mais novos juntaram‑se a um lado e olham‑se mais do que falam. Os desejos emudeceram‑nos. O amor para eles só conhece factos. É por isso que alguns estão deitados; nem conversam à porta.
É por isso também que lá fora, na negridão da noite, se movem vultos e se ouvem gemidos.
Os que ficaram, só olham e não falam, porque se lembram dos vultos que se movem na noite e dos gemidos que não ouvem, mas adivinham.
Pernas cruzadas, onde o bandolim se encosta, um ceifeiro vai dedilhando as cordas e pisando as escalas.
Solta‑se dele uma música tremida, como a soluçar. Os outros pensam que, se o patrão desse ordem, ali mesmo se armava «brincadeira». Até se baila na cabeça de um tinhoso.
E talvez não sentissem as ferroadas das melgas e dos mosquitos que invadiram o barracão, às nuvens, e não lhes deixam sossegar as mãos a sacudi‑los. Aquele zuído diz‑lhes que as sezões não vêm longe e os quartéis parados pouco tardam.
O anúncio fica a cobrir os pensamentos e as palavras, amodorrando os alugados.
Eles não sabem se vem chuva, mas sabem que a malária, pelo menos, não falta. É tributo sagrado a pagar todos os anos à Lezíria. Quando pegam nas foices, têm de contar com as tremuras daquele frio nascido dentro deles e que os sacode, como nordeste a ramos de salgueiro.
Aquela vida só conhece uma certeza ‑ as sezões. E se as mãos não estagnam a espantar os mosquitos e as melgas, os cérebros não esquecem que a paga do tributo vem breve.
O barracão tem as goelas abertas e as nuvens entram sempre. O zuído vai subindo, como cheia grande a galgar nos campos.
Aos ceifeiros parece‑lhes que cobriu a música que o bandolim soluça e consome as palavras que trocam entre si. Só ouvem aquele som penetrante que lhes verruma a cabeça e os nervos estafados, para os aparafusar a um destino certo. Ali têm de ficar grilhetados à certeza que aos poucos se agiganta e os domina. A cada instante o zuído é mais poderoso e o seu eco mais distinto.
‑ São como terra!...
‑ Dá‑se‑lhes aí uma jantarada de fumo que até se amolam.
‑ São piores que sarna!... Praga danada!
Dentro em pouco uma fogueira crepita, no meio do barracão. O fumo sobe, penetrando tudo, pela água que atiram ao brasido.
Os ceifeiros tossicam, envolvidos por aquela bruma que abre clareiras nas nuvens dos mosquitos, e vêm para a rua limpar os olhos ardentes.
Picam em grupos, a assistir ao erguer do fumo que acinzenta cabides e alforges, esteiras e mantas.
A luz é um sinal de farol a gritar no nevoreiro que se não dissipa.
‑ Eh, gente!... Eh, gente!...
Os brados chegam às motas onde os rabezanos conversam.
‑ Lá está aquele a juntar o rebanho! Tem medo que fique alguém fora da malhada!...
E os rabezanos riem.
Estes já não afugentam os mosquitos, seus companheiros para a vida inteira. E os gaibéus são outra gente que não tratam por camaradas.
Se não fossem eles, mais braços da Borda‑d'Água encontrariam trabalho na Lezíria. Os patrões querem pessoal que não tenha domingos e se alimente de jornas baixas.
Por isso as mondas e ceifas são feitas por gaibéus e carmelos. E os rabezanos procuram nas fábricas e nas descargas dos cais o que o campo não lhes dá agora. Ainda bem, pensam muitos.
Eles não podem olhar como camaradas os gaibéus e carmelos.
‑ Eh, gente!... Eh, gente!... Na mota, os homens riem.
Os ceifeiros voltaram a estender nas esteiras os corpos afadigados e a tosse contaminou‑os.
As portas ficam fechadas e o fumo sai aos poucos pelas suas fendas e pelas frinchas do telheiro de zinco. O ambiente fica carregado e penetrou nos pulmões dos alugados. O cheiro acre do fumo juntou‑se ao suor dos corpos, empastado nas camisas e nas blusas.
De todo o rancho só faltam os três rapazes que dão a água e fazem a respiga, cujas esteiras continuam enroladas ao canto do barracão. O capataz já jurou que os não deixava entrar e decidiu meter as trancas às duas portas desmanteladas, por onde o fumo se vai libertando.
‑ Cá dentro não põem eles o pé. Quem quer galderice, o corpo é que paga. Uns fedelhos e ainda fora... Não faltava mais nada. Juntaram‑se para aí a malandrar e amanhã não há quem os faça largar a manta. Uns fedelhos... Pois ficam ao relento, que é para aprenderem!
E deixou‑se cair na esteira, estendida junto à porta. Cobre‑se com a manta felpuda e mira, de esguelha, a ceifeira dos seus desejos. Mas ela está de costas voltadas e tem à sua ilharga a outra de saia rasgada com mancha de sangueira pisada.
‑ Raio de coisa!...
O ceifeiro desdenhado, lá do seu canto, espia as cachopas, à espera que alguma se descomponha no descuido do sono. O Pananão gostaria de arranjar mulher que lhe desse carinhos, sabe trabalhar como poucos, é homem como os outros.
O ceifeiro rebelde pensa nos rapazes que vão ficar toda a noite ao relento.
Estes, porém, não se lembram do barracão nem da esteira, quando os homens conversavam à porta do aposento nas mais diversas coisas da vida, viram passar os quatro rabezanos da sua igualha.
Viram‑nos passar, a gingar e rir, a caminho do Tejo. Os olhos foram com eles e os três seguiram depois o caminho que os olhos tinham traçado na noite.
Da margem do rio chegavam brados e assobios.
A passo estugado, sem trocar palavras, foram marchando na direcção daquele norte.
Na faixa de areia que se encosta ao valado, lá estavam os quatro, em grupo.
Um baixou‑se, com as mãos apoiadas nos joelhos, e os companheiros foram postar‑se a distância.
Os gaibéus sentaram‑se na areia, sem trocar palavra, deslumbrados.
‑ Já pode?!... ‑ gritou um rabezano.
‑ Já!...
O que abria a fila correu na direcção do que amochava e gritou:
‑ Primeiro da bela mula!
E, pousando‑lhe as mãos nas costas, saltou‑lhe por cima. Os outros vieram de seguida, ligeiros, a malandrar.
‑ Primeiro da bela mula!
E os gaibéus ficaram a ouvir‑lhes os brados, para aprender e repetirem na aldeia, quando regressassem.
‑ Segunda das pernas cruas!
‑ Três... três... três... pancadinhas olandrês...
‑ Quatro: come o arroz e deixa o prato.
E saltavam à vez, por cima do que se postava acochado, no meio da faixa de areia.
‑ Cinco: Maria dos Brincos!
‑ Seis: Maria dos Reis!
‑ Sete: leva ou deixa? O outro respondeu:
‑ Deixa!...
Os três tiraram os barretes e, quando saltaram, deixaram‑nos ficar nas costas do que alombava.
‑ Oito: biscoito!
‑ Nove: quem padece é o pobre!
Os gaibéus perceberam este brado melhor do que nenhum outro e repetiram‑no entre si, acotovelando‑se a rir, sem perceberem porquê.
‑ Nove: quem padece é o pobre!
Já não esqueceriam que o nove era a sina do pobre.
‑ Dez: tira a carrapata dos pés!
‑ Onze: bronze!
‑ Doze: rebaldoze... Dez e quatro são catorze. Dezasseis e vinte e um faz um cento menos um.
Os quatro rabezanos repararam neles e o anojeiro das éguas veio convidá‑los para a brincadeira.
‑ Eh, pazes! Vossemecês querem reinar a isto?!... Eles não perceberam o que o outro lhes disse, mas levantaram‑se leves e foram para junto do grupo.
‑ Um de vossemecês tem de alombar!... E o jogo voltou ao princípio.
‑ Primeiro da bela mula! ‑ gritou o anojeiro.
Boa razão tiveram para vir atrás dos rabezanos. Que aquilo, sim, aquilo era passar o tempo, esquecendo os ralhos do capataz e os tormentos da ceifa. Já não podiam ouvir os homens na mesma conversa de sempre de coisas que já sabiam.
Agora iam aprender a gingar o corpo e a rir como os rabezanos.
E se a jorna desse, ainda haviam de comprar um barrete verde. Agora com volta e borla cor de papoila.
‑ Primeiro da bela mula!
Quando chegaram aos seis, os gaibéus enganaram‑se. Mas o nove foi mais gritado que nenhum outro.
‑ Nove: quem padece é o pobre!
Até o que alombava repetiu o número:
‑ Nove: quem padece é o pobre!
‑ Dez: tira a carrapata dos pés!
‑ Onze: bronze!
‑ Doze: rebaldoze... Dez e quatro são catorze. Dezasseis e vinte e um faz um cento menos um.
E o jogo continuou com o gritar dos números, a que correspondia um novo salto sobre o que estava curvado no meio do areal.
Os gaibéus que saltavam tinham despido os casacos de cotim e arregaçado as mangas das camisas esfiampadas. Arfavam e o suor ressumava‑lhes da testa e do pescoço. Mas já riam como os rapazes da Borda‑d'Água.
O rio vinha beijar‑lhes os pés, lambendo a areia, onde os avieiros, pelo Inverno, puxavam as varinas na safra do sável. Agora os avieiros andavam espalhados pelo rio, a pescarem com as nassas; outros encalhavam saveiros no lodo das povoações ribeirinhas, labutando na venda de melancias e melões.
A língua de areia pertencia aos quatro rabezanos e aos três gaibéus que jogavam o «primeiro da bela mula». De dia as gaivotas iam para ali esvoaçar e comer algum peixe que abicassem no Tejo. Mas a noite descera há muito tempo e o areal pertencia aos sete.
‑ Sete: leva ou deixa?...
Não se lembravam de que o capataz fechava as portas do barracão e amanhã era também dia de ceifa. Os corpos não sentiam as dores com que a faina e o sol os haviam castigado.
O jogo acabara. Os sete estenderam‑se no chão que lhes refrescava as costas encharcadas de suor e entretinham‑se a procurar na noite o luzeiro das estrelas.
‑ Quantas contaste?
‑ Doze!...
‑ E eu nove. Nove: quem padece é o pobre!
Os outros dois gaibéus também tinham visto nove estrelas.
As estrelas mal tremeluziam no céu. As luzes das vilas do Norte ganhavam‑lhes naquela noite. Pareciam luzeiros ao longe.
Os rabezanos limpavam os rostos com os barretes; os três gaibéus lembravam‑se outra vez de que haviam de comprá‑los também quando a jorna desse ‑ verdes, muito verdes, com volta e borla cor de papoila.
E então deixariam de ser gaibéus, ninguém mais lhes daria esse nome feio. Seriam rabezanos como os quatro companheiros que gingavam e riam.
Saberiam contar histórias de toiros e campinos, mais bonitas que quantas outras se diziam lá na terra, à lareira.
E mostrariam, como o anojeiro das éguas, berloques feitos de chavelho, a canivete, mais apuradinhos que todas as bugigangas das feiras e mercados ‑ nem na de Santa Iria, em Tomar, coisas tão ajeitadas se mercavam.
E armariam aos pássaros como o pardaleiro. No Outono ao ramo, em Fevereiro e Março ao cio, no Verão às eiras e aos bebedouros. Possuiriam redes de tesoura, com dois tombos, e redes à espanhola, com quatro. Elas teriam guias, e, agarrados à puxa, apanhariam verdelhões e pintassilgos, pintarroxos e tentilhões.
E no tempo das eiras, quando a passarada se fizesse aos bagos, eles lá estariam para a encarcerar ‑ pardais e carreirolas, calhandras e arvéolas. As suas chamas e negaças cantariam melhor que nenhumas outras.
Conheceriam de longe o canto de todas as aves; nos seus viveiros não entrariam ladrões e chuins, maus cantores de árias bucólicas.
Só turrochéus e rebebechéus daqueles que pegam a trinar como rouxinóis de silvado e não desafinam como os chuins. Seriam passarinheiros famosos, como o rabezano que espanta pardais no arrozal. Haviam de ter um viveiro feito de cana, com campainhas mais doiradas do que o sol, igual ao da casa do abegão.
Como o rapaz dos bois, comprariam um pente verde e um espelho redondo com flores encarnadas e amarelas por detrás.
Usariam risco no cabelo para irem rondando as cachopas mais maneiras dos ranchos que ali viessem.
E não se importariam, como ele, que os outros os atazanassem.
‑ Hoje, como não há dança, já deitaste por cá.
‑ Não deixas por isso de ser trongo chapado.
‑ E vossemecês a ralarem‑se... Larguem‑me!...‑respondeu‑lhes a sorrir, maroto.
Os três gaibéus riram. Os outros rabezanos baixaram a cabeça, embezerrados.
Só o Forneças, sempre mais calado, lhe retorquiu daquela vez, não deixando de desenhar na areia certas coisas que eles não compreendiam.
‑ Andas no baile a fazer boca e no fim elas vão com outros.
‑ E vossemecês?
Os gaibéus perceberam que havia ali história de fêmea. Sentiam‑se ainda muito moços para conhecerem coisas que só aos homens importam.
O Passarinho estendera‑se de novo no areal e contemplava as estrelas. Gostava de ficar assim muito tempo, semeando nelas os seus pensamentos ‑ como se nas estrelas morasse algum pássaro de canto para ele meter no seu viveiro de campainhas.
Amava os pássaros porque o seu canto lhe falava ao coração; ainda ninguém lhe dissera palavras iguais às deles. Os capatazes e o abegão bramavam. Quantas vezes lhe caía em cima um cachação, só porque andavam de má catadura e ele se esquecera de trazer os tiros da poisada.
Então lembrava‑se do chilrear dos pintarrochos e verdelhões. Eles tornavam‑se seus companheiros de desdita, como os camaradas de trabalho e folgança.
Chamavam‑lhe o Passarinho, mas o nome não o amofinava, como ao Forneças, que se embravecia, e largava asneiredo de atarantar uma varina. A alcunha era para ele um motivo de orgulho. Se os camaradas andavam aperreados no trabalho e ele arranjava algum bocado de descanso, ia logo de fugida até ao viveiro e ali se esquecia a ouvir o canto desses companheiros.
Na sua gaiola não havia ladrões nem chuins, nada disso, só passadores cantadores.
O Forneças ainda não largara o Doirado, porque ele agora usava risco, o peralta, e tinha um pente verde mais um espelho redondo com flores encarnadas e amarelas por detrás. Estava um caganças.
‑ Nem o patrão se aperalta tanto como este fidalgo de meia‑tigela.
‑ Larga‑me...‑respondeu o outro com mau modo. Os três gaibéus riram.
Naquela noite eles aprendiam vida nova doutra gente.
‑ Eh, pazes!... Eh, Passarinho! ‑ disse o Forneças.
O pardaleiro levantou a cabeça, apoiando‑se aos cotovelos
‑ Qu'é?...
‑ Temos de arranjar outro nome pró Doirado. Este já não lhe fica bem.
‑ Vê lá em que te metes ‑ ameaçou o anojeiro. Pimpão, o Forneças voltou‑se para os companheiros:
‑ Este gajo julga que come homens à ceia. Quando tabaixasses, tinhas de me largar.
‑ Anda lá...
Houve um silêncio entre eles. Das motas arribou o badalar dos chocalhos.
Os gaibéus pensavam no nome.
«Nove: quem padece é o pobre!»
Para eles, brilhavam nove estrelas no céu.
‑ Que nome lhe dás, ó Passarinho?
‑ Caganças!
Uma gargalhada ecoou no silêncio. O Doirado fingiu não ouvir e pôs‑se a afagar o peito com a mão sapuda.
A gargalhada parecia desdobrar‑se mais longe que a fita do Tejo.
‑E tu, ó Cadete?...
Todos deviam ser consultados no baptismo. Os nomes que dali saíam ficavam às vezes até à velhice. O rapaz dos bois era o Doirado. Andava agora com a mania, comentavam os amigos, mas viera naquela noite para junto dos camaradas porque as raparigas se tinham recolhido e não havia bailarico. Ele esquecera que a fêmea do grupo era a Menina, a cabra do abegão, e os outros não levavam à paciência a traição do Doirado.
O Cadete, sempre desajeitado a pôr alcunhas, era um «aqui me tens» na brincadeira e no trabalho. Mas pertencia à quadrilha e a consulta de baptismo tornara‑se sagrada entre eles.
‑ Então?... Diz lá qualquer coisa...
Safo para roubar não havia outro naquela emposta. Se a fome apertava, e ali perto alguma coisa dava de comer, cabia‑lhe propor o assalto. Nessas alturas nunca se ficava para trás ‑ gostava do trabalho mais arriscado e ria‑se do medo dos amigos. Parecia que nascera para a ladroeira. Os outros consideravam‑no seu chefe.
Agora, porém, não se tratava de entrar em capoeira ou de fazer colheita nas melancias de algum barco que encostasse, à espera de vento.
Queriam dar alcunha nova ao Doirado, e, por mais que coçasse a trunfa farta, não lhe saía nada a preceito.
‑ Então, pá?... insistiu o Forneças.
‑ Sei lá! ‑ respondeu o Cadete, embaraçado e desdenhoso. O réu olhava‑o de lado, com expressão de raiva e ameaça.
Não era por isso que não lhe dava alcunha. Ali no grupo nenhum se desembaraçava tanto a riscar no jogo da rasteira e não havia outro que mais pronto sacasse da navalha.
O Doirado já lhe provara as mãos; e então, desde que deixara estendido com uma cabeçada o abegão do Ruivo, entre eles acabaram‑se teimas de valentia ‑ o Cadete «dava os bons‑dias» no grupo.
‑ Sei lá, pá!...
Bem aparafusava um nome de pompa que definisse o rumo que o Doirado tomara, mas os nomes baralhavam‑se e só lhe vinha à ideia a alcunha de Caganças. E Caganças já o Passarinho dissera, não tinha culpa.
‑ Eh, pá, tenho um nome aqui... aqui mesmo...
E apontava a boca, como a convencer os outros de que naquele momento não lhe faltava o nome, mas a palavra.
‑ Não vai, está percebido ‑ concluiu. ‑ Diz lá o teu, ó Forneças!
O Forneças, em coisas de cabeça, era o sábio da quadrilha. Sabia mais que todos os outros juntos ‑ andara na escola e era capaz de ler umas letras. Bocado de jornal que o vento arrastasse, logo lhe galgava atrás para se pôr a soletrá‑lo. Os companheiros, por seu lado, também não desperdiçavam papel escrito que vissem, porque gostavam de ouvir o Forneças dizer coisas que não ouviam a mais ninguém. Ele só sabia bem as letras grandes ‑ aquelas mais negras do que carvão e que esmagavam as outras metidas entre colunas.
Isso lhe dava o respeito dos camaradas. Se o Forneças não lia as outras letras, é porque não queria ‑ as letras grandes, sempre eram letras grandes. Valiam mais do que as outras.
‑ Gue... rra. Na... C e H... C e H... Xe... Xe... Chi., na. Guerra na China.
Os outros olhavam‑no com admiração.
‑ E aí por baixo?...
‑ Não presta... Não diz nada de jeito. Concordavam. Onde havia letras grandes, às outras não
cabia palavra. Era assim como se o patrão passasse. Todos tiravam o barrete e baixavam a cabeça.
As letras grandes representavam os patrões das outras. E admiravam o Forneças, talvez mais pelo desdém com que encolhia os ombros para as letras pequenas do que pela maneira compassada com que lia os títulos dos jornais.
Já o Passarinho contava aos três gaibéus que o amigo lia as letras grandes como quem come um bocado de pão. Também eles o admiravam: o Forneças sabia tanto ou mais que muitos professores da escola, olha pois não!
Só lia as letras grandes...
Quando o Cadete disse que passava de mão, o Doirado embezerrou. Da banda do Forneças não vinha coisa boa, não.
‑ Para o maioral das raparigas cá da emposta... Eh, pá, mostra cá o risco!
Todos riram. O Doirado deu‑se à graça e sorriu também. ‑ Vê lá o que me arranjas.
‑ Tu és bom rapaz. Se não fosse a mania...
Nunca os três gaibéus riram tanto. O Passarinho rebolou‑se no chão, a contorcer‑se e a rir.
‑ Eh, pá... Eh, pá...
«Aquilo sim, aquilo eram bons bocados que uma pessoa passava com companheiros de moina. Agora estar na poisada a ouvir os homens falar em coisas da vida e os cachopos na choradeira... O capataz já fechara as portas, mas também não ouvia daquelas. Tinham‑lhe dito que os rabezanos se faziam de forma torta para os que vinham de fora, mas eles nunca haviam encontrado companheiros assim.
«Brincar, não era brincar: era reinar. E tinham saltado ao 'primeiro da bela mula'... E visto os berloques feitos pelo Forneças... E ouvido o Passarinho falar de chuins e turrochéus... E eram amigos de um rabezano que lia letras grandes que nem os professores.»
Se eles pudessem... Se a jorna desse forra, ainda haviam de comprar barretes.
E depois que lhes chamassem gaibéus ou outro nome qualquer.
Quando a calma voltou, o Forneças prosseguiu:
‑ Não senhor. Lá isso também não. Se lhe ouvissem o nome, as cachopas abalavam Lezíria abaixo com medo de algum salto. E quem fazia o trabalho?... Não havia mulher que pusesse pés no Sul! Lá isso, também não. Marrafa! Marrafa é que há‑de ser.
Os outros acharam bem. O Doirado passava a ser Marrafa, sim senhor.
‑ Marrafa!... Eh, Marrafa!...
O anojeiro pensou que a alcunha tinha até a sua graça. As mulheres haviam de gostar de lhe pôr as mãos nos cabelos e chamar‑lhe Marrafa. Algumas mais meigas talvez lhe chamassem Marrafinha.
Não era nome feio, não senhor.
E já se via à borda de uma aberta a levar de vencida a melhor cachopa dos ranchos.
O Forneças propôs aos outros que os três gaibéus fizessem parte do grupo. Aquilo não estava nos hábitos, mas os rapazes pareciam de boa marca. O Cadete não ficou bem convencido. Não sabia quem eles eram, e mais valia só do que mal acompanhado.
‑ Vossemecês são chocalheiros?
‑ Chocalheiros? ‑ perguntou um.
‑ Sim!... Se dão à língua.
‑ Na!... Não senhor!
‑ O que se passar aqui com a gente, é como se caísse num mudo. Nem meia!...
‑ Ha?!...
‑ Nem que houvesse morte d'homem ‑ respondeu o gaibéu mais velho.
O Cadete pôs‑lhe a mão no ombro e acenou com a cabeça ao Forneças. O Passarinho achou bem. O Marrafa pensou que talvez algum deles tivesse irmã.
‑ Cá por mim...
E naquela noite ficaram com o nome.
‑ Tu ficas o Malpronto...
‑ Tu...
O Forneças reparou que aquele gaibéu era atarracado e carnudo e tinha uma cara que fazia rir. Boca grande, dentes largos e espaçados, nariz a apontar o céu...
‑ Este fica o Caraça. Os outros concordaram.
‑ Agora este...
‑ Esse não parece nada. Tem assim cara de coisa nenhuma.
‑ Sem nome!‑grunhiu o Cadete.
‑ Isso não!...
‑ Se vossemecês não s'importassem...
‑ Diz lá. Baptiza‑se ele mesmo. A gente diz se acha bem.
‑ Eu gostava de me chamar Nove.
‑ Nove?...
O gaibéu pensava que «quem padece é o pobre».
‑ Nove, porquê?
Não respondeu. Que havia de explicar? O Malpronto e o Caraça bem o sabiam. Mas nada disseram também.
‑ Pois então, ficas Nove. Se depois vier outro nome...‑ sentenciou o Forneças.
Os três gaibéus perdiam naquele momento todo o passado. Não pertenciam agora ao rancho do Francisco Descalço, nem a sua poisada se fechara por ordem do capataz. Já eram outros, nados e crescidos ali naquela língua de areia, onde o Tejo vinha adormecer as marés brandas ou encabritar‑se ao toque do vento e das cheias.
Numa só noite aprendiam mais do que até ali. Camaradas duma vez, aqueles rabezanos. Ficavam sem sentido os conselhos dos pais:
«‑Cuidado com essa gente lá de baixo...»
E não paravam histórias e histórias de homens e mulheres desfeiteados. Agora viam que tudo aquilo não passava de malquerenças. Enzonices de quem desconfia do Céu e do Inferno.
Em conversa animada, o Cadete e o Forneças concebiam um plano.
O Passarinho tirara uma mortalha do bolso e deitava‑lhe dentro barbas de milho.
‑ Vocês querem? Vá lá uma cigarrada!
Os três gaibéus deixaram de ser meninos naquela noite. Iam fumar como os homens e deitariam baforadas de fumo pela boca e pelo nariz. O Marrafa aceitou também, porque ali não havia cachopas; e não ia mal, a galo que arrastava a asa, fumar cigarros de barbas de milho.
Na noite ficaram a lucilar mais sete estrelas.
Os três gaibéus tossiram e a sua tosse fez rir os outros. Bem tiveram vontade de deitar fora aqueles tições que os queimavam e entonteciam, mas parecia mal desfeitear companheiros tão catitas.
A cabeça girava como se andassem de cavalinhos na feira de Santa Iria, em Tomar. Tudo ia na gana, a rodar com eles, e só faltava a música para os acompanhar na vertigem de emparvecer uma pessoa.
Não eram meninos e aos homens ficava bem chupar cigarros e deitar fumo pela boca e pelo nariz.
A voz pausada do Cadete ouviu‑se no silêncio.
‑ A fome está a entrar comigo, ó rapazes!... E vocês?
‑ Também por cá anda.
‑ É que nem um bicho a moer madeira. Parece até que entrou no bandulho e me está a comer a pele.
Naquilo é que todos eram iguais. Os rabezanos usavam barrete e sabiam contar histórias. Tinham a Menina e fumavam como os homens. Riam que nem gaios e gingavam que nem carretas. Eles invejavam‑nos por tudo isso e estavam naquela noite a aprender uma vida nova. Mas na fome os rabezanos não diferiam dos gaibéus e carmelos.
Carmelos, gaibéus e rabezanos estavam todos marcados com o número nove.
«Nove!... Quem padece é o pobre!»
Todos ferrados com um nove.
Os gaibéus sentiam o número marcado a fogo no seu peito e adivinhavam‑no também no dos quatro rabezanos.
Eles não sabiam escrever, mas sentiam‑no. Tomava o feitio de uma ferradura grande que ficasse gravada nos seus troncos jovens.
«Nove!... Nove!...»
As águas do Tejo diziam‑no, vindo ciciar na areia que se cingia ao valado.
‑ Na arca só pão duro e mais nada.
‑ E os melões já vão no resto...
‑ Ainda se houvesse meloais todo o ano!
A voz pausada do Cadete ouvia‑se no silêncio, como gotas de chumbo a cair em telheiro de zinco.
‑ Tem por ali uns montitos de meloas, a modo que para vender aos porqueiros. Mas se outra coisa não há...
‑ Vamos lá esta noite, ó Cadete?
‑ Estava agora a pensar nisso.
Voltou‑se com voz severa para os três novos companheiros:
‑ O que se passa aqui... nem pio! Se algum chocalhar, nunca mais engole.
E passou a mão seca, sempre a tremelicar, no glúteo magro.
‑ Temos de fazer boa colheita esta noite. Amanhã vêm os carros, e lá se vai o resto.
Os companheiros nunca interrompiam o Cadete quando se falava em assalto. Era ele o chefe do grupo naqueles momentos. Ninguém se lembrava da sua cabeça oca para pôr alcunhas. Naquelas alturas não se lembravam de que o Forneças sabia ler letras grandes nos jornais rasgados que o vento arrastava.
‑ A colheita é de todos... e todos aqui trabalham. O Zé Miguel deve estar mais sossegado, mas não larga a caçadeira mesmo assim. Eu vou ao monte...
Escolhia sempre as missões mais arriscadas. E ria‑se se algum aparentava medo. O Cadete trazia dentro dele a marca inconfundível do pai.
Foi o Passarinho que contou aos três gaibéus a história romanceada do pai do Cadete, enquanto ele ia falando na sua voz pastosa e batida.
‑ Andava por aqui a trabalhar desde miúdo como a gente. Era um homem sério, que o diga toda a malta que o conheceu. Amigo da família como poucos. Desunhava‑se a trabalhar sempre que houvesse onde e com um afinco...
Era um moiro, um pau‑mandado. Se entrava numa taberna, para acompanhar camarada, nunca de lá vinha com camoeca. Era um pedaço de homem e nunca brigava.
Todos o tratavam bem e em cada companheiro tinha um amigo. A sua vida ia como a de toda a malta que por aqui trabalha ‑ alforge escasso, canseiras à lagúrdia... mas lá ia andando. A mulher adoeceu‑lhe. Conta o Tio Custódio que nunca enxergara homem mais triste que o Cadete. Se ele bebia os ares pela mulher. E não lhe podia valer. Aquela tristeza só o abrandava no descanso. No trabalho era sempre o mesmo: um moiro, um pau‑mandado. Pensou na sua que se chegasse ao patrão ele lhe havia de dar remédio. Numa cheia grande que cobriu isto tudo, que mal os aposentos e os palheiros arrebitaram o carapuço, ele salvou ao patrão algumas cem cabeças de gado. Foi de matar: dia e noite não descansou. «Em coisas destas não há sol nem lua», dizia ele. E só cá ficou um poldreco que fugira à manada. O resto meteu ele na charneca, à custa de muito suor e de aguentar no lombo muito temporal.
Os três gaibéus viam‑no a cavalo, de manta às costas, a romper com todo o tempo. E admiravam agora o Cadete, que ia dizer o seu plano ao Marrafa e ao Forneças. Ria por tudo e esfregava as mãos, como se estivesse para receber alguma feira.
‑ O patrão ouviu, tomou um ar pesaroso, e deu‑lhe vinte escudos. «Toma lá, Cadete. Lá conta em meu nome na farmácia, isso é que não. Isto vai mal e pouco me falta para andar aí como tu. Tem paciência, e se outra coisa for precisa...» Ele meteu pelo carril, a pé, e nunca mais apareceu na emposta.
‑ A mulher morreu‑lha, mas os remédios já então não faltavam. Todas as semanas a mãe recebia dinheiro. Ele é que não aparecia nunca. O filho era ainda um garrano, nessa altura. Numa noite foi preso, ali para as bandas de Salva‑terra, quando arrombava uma porta para fazer uma colheita, e teve África. Quando voltou, vinha apurado que nem doutor e jurou aos amigos que o filho havia de estudar para juiz. E que ele também seria seu professor, pois sabia de coisas de roubos muito mais que a livralhada. Que ainda havia de fazer uma lei nova, dizia a rir. «E juro que ninguém mais é preso por ladrão.» Meteu‑se em Lisboa e criou fama. Limpava tudo que lhe luzisse. Coisas de pobre não lhe passavam pelas mãos. Mais do que uma vez a polícia recebeu bugigangas que roubara, e que pelos jornais sabia depois que eram de gente pobre. Andou naquilo sei lá quantos anos! O Cadete tem ali guardado um bocado de jornal com o retrato dele. É coisa que nunca o larga. Vê‑se bem que era um homem com cara de bom. E bom era ele. Muito camarada daqui recebeu dinheiro que mandava, quando sabia que havia doença em casa. Mas um dia... Não pôde fazer do Cadete um juiz. «Se não for juiz, ao menos que seja ladrão.» A polícia deu‑lhe caça e caiu crivado de balázios. Os jornais disseram que ele tinha defrontado os guardas, mas ninguém acreditou. Era homem que não usava arma. Era um pedaço de gente e nunca brigara. O Manel Felício fez‑lhe uma cantiga. A cantiga já esqueceu. Só o Cadete é que a sabe, mas não a canta. Todas as noites, quando se deita, reza‑a. É a única coisa que ele sabe rezar. E se tiver filhos diz que lha há‑de ensinar toda. A mim não me parece que ele deite lá. O pai não usava arma, mas ele anda sempre de canife. E diz que não morre como o pai. Aquele que o quiser afiançar há‑de dormir aos pés dele cosido à navalhada.
O Cadete percebeu que o Passarinho contava a história do pai e agradeceu‑lhe com um olhar. Gostava que todos soubessem a história do campino que se fizera ladrão e morrera que nem um crivo.
Naqueles momentos, era ele o chefe do grupo.
Os três gaibéus entenderam que o amigo tinha razão para andar todo tolo com um pai daqueles. Eles nunca mais esqueceriam o rimance do campino bom que se fizera ladrão. Iriam contá‑lo na terra, se lá voltassem ainda. Então, ensinariam aos companheiros tudo o que tinham aprendido naquela noite. Muita coisa, caramba!
Naquela noite em que havia nove estrelas a brilhar no céu.
Agora estava tudo pronto para o assalto aos melões que o Zé Miguel guardava; com um chefe daqueles ninguém sabia a cor do medo. Se o Passarinho não contasse a história do pai do Cadete, iriam de coração mirrado para a aventura, com certeza. Mas assim...
E enquanto comessem os melões que estavam vendidos aos porqueiros não mexiam na jorna. Talvez pudessem comprar barrete verde, igual aos dos rabezanos.
‑ Ó Forneças! Tu vais com esses três pelo carril lá de baixo. Mete‑os ao carreiro do meloal e safa‑te. Vocês já sabem.
O Cadete com o Marrafa e o Passarinho iam pelo lado do Tejo, rastejaram no capelo do valado, encobertos com a cortina do canavial, cujas bandeiras se roçagavam numa cantilena triste.
Tudo o mais era silêncio.
O luar não viera ainda e talvez não chegasse naquela noite.
O Cadete não esfregava as mãos ‑ sinal certo do seu contentamento. Aquilo não oferecia perigo e ele gostava de ir aos melões com a Lua bem plena, vendo o Zé Miguel, lá ao longe, a passear e a deitar o olho. Ele gostava de saber que os camaradas sentiam receio de alguma chumbada. Achava‑se superior naquele momento ao Forneças, que só lia letras grandes. Lembrava‑se do pai, que tivera retrato nos jornais e a quem o Manel Felício fizera uma cantiga que ele sabia de cor e salteada.
Os três gaibéus já iam no carreiro do meloal e caminhavam em fileira, devagar, como trôpegos, levando o Malpronto adiante. O Forneças ficara alerta para o lado das motas, não ' viesse dali alguém que topasse a marosca e desse à língua. Do outro lado, o Cadete entrara na aberta, metido em água até ao sexo, e afastava, sorrateiro as tabugas e os bunhos que lhe dificultavam a marcha. O Marrafa e o Passarinho sentaram‑se no declive do valado a cochichar.
‑ O Malpronto dá conta do serviço. Nem parece gaibéu, o gajo.
A poisada ficava ali mesmo a poucos passos dos gaibéus, e eles não se temiam, caminhando sempre pelo carreiro do meloal.
Ouviu‑se o ladrar de um cão, depois a voz de um homem;; de dentro da poisada rasteira uma golfada de luz jorrou cá fora.
‑ Que é lá?!... Quem anda aí?! Os três gaibéus fizeram alto.
O Nove e o Caraça acoitaram‑se por detrás do Malpronto, num movimento de defesa.
‑ Oh, senhor...
‑ Cheguem‑se cá.
O cão rosnava ao lado do Zé Miguel, em recuos e avanços,O trabalho deles era entreter o homem e dar tempo ao Cadete, para que se chegasse ao monte das meloas. O resto era fácil. E haveria almoço e jantar para uns poucos de dias, mesmo que as tripas andassem às voltas e se desentranhassem.
‑ Que é que vocês querem?
‑ Saiba o senhor...
O Zé Miguel olhava os três, desconfiado. O Nove e o Caraça mirravam‑se mais.
‑ Vinham‑me aos melões, não?!
‑ Quais melões, senhor?!... Vimos aqui com umas duas léguas nas pernas e não sabemos onde estamos. A noite apanhou a gente no caminho e não se pode voltar atrás. Não sabemos o caminho nem pra trás nem pra diante.
‑ Donde são vocês?
‑ Lá de arriba... das bandas de Ferreira.
‑ Ah, bem sei!... E vêm aqui a alguma emposta trabalhar, não?...
‑ Sim, senhor ‑ respondeu‑lhe o Nove, mais afoito, sempre de olho no cão, que ainda não deixara de rosnar.
- Sim, senhor. Os sacos ficaram no Cabo e botam cá
amanhã na carreta do patrão.
‑ Patrão Agostinho, ouvi dizer lá na terra.
‑ Ah, bem sei!... Conheço.
Ao Zé Miguel também a conversa não desarranjava; estava só e dois dedos dela não lhe faziam dano. Do outro lado, as meloas iam passando do Cadete para o Marrafa e depois para o Passarinho, que as fazia rolar pelo valado para a margem do Tejo.
‑ Se é muito longe daqui, temos de pedir licença a vosse‑mecê e deitar o capado em qualquer sítio.
‑ Se fosse preciso... Vocês são irmãos?
‑ Não, senhor.
‑ Pois não é longe. Metem aqui sempre a direito ‑ e apontava com o braço, carreiro adiante ‑ e quando chegarem ao fundo dão com um carril largo. É à esquerda. Logo vêem os aposentos.
‑Muito obrigado ao senhor. Deus o ajude!
O Malpronto levou a mão ao boné e os outros imitaram‑no.
‑ Boa noite!...
O Zé Miguel ficou‑se a vê‑los seguir caminho. O cão decidiu‑se a mostrar bravura e ladrou furiosamente.
‑ Eh, Fidalgo!... Caluda!
Ouviram a porta da poisada fechar‑se e tudo ficou em silêncio. O Nove e o Caraça respiravam agora. «Caíra‑lhes um peso tão grande no peito quando enxergaram o guarda a tapar o carreiro!... Nunca mais pela cabeça lhes passou a história do pai do Cadete.»
‑ Se o Zé Miguel desse de desconfiar...
‑ Era maquia real.
‑ Não saía a vintém a dúzia!
Agora iam mais afoitos, mas ao Nove parecia que o guarda continuava ainda a olhá‑los, de caçadeira ao ombro.
E deitou a correr. O Caraça seguiu‑o que nem um gamo e passou‑lhe à frente sem olhar para trás.
Só o Malpronto ficou a rir‑se dos outros, como quem vai de consciência limpa e nada teme.
‑ Se o Cadete sabe destes valentes...
Quando chegou ao carril, o Forneças estava com os dois companheiros à espera dele, ansioso por saber tudo o que se passara. Pela correria do Caraça e do Nove julgava que a coisa não correra de boa maré e seria preciso dar o sinal para o Cadete se pôr a salvo.
Mas mal o viu vir, de mãos nos bolsos, a assobiar, gingando o corpo como se fosse da Borda‑d'Água, voltou‑lhe o sossego. Os outros ficaram varados com o desplante do Malpronto. Eles bem tinham visto o Zé Miguel de caçadeira ao
ombro, assim com jeito de a meter à cara e puxar o gatilho.
Não era o Malpronto, de certeza, que vinha pelo carreiro do meloal ‑ era o pai do Cadete, o campino bom que se fizera ladrão.
O Forneças não pôde deixar de dizer aos outros três que aquele gaibéu, com roupas de pedinte e carinha de anjo, «era um gajo catita para a coisa».
‑ Se vocês vissem como ele vinha... Era assim a modo o dono daquilo tudo.
Todos concordaram que o Malpronto devia receber mais uma meloa, porque se portara naquela missão que nem um homem direito.
Tinham feito roda no areal, com a saca cheia no meio deles, e pouco falavam.
Os dentes sumiam‑se na polpa das talhadas e só se ouvia o chapechape das cascas a cair no Tejo.
‑ Já andava em atraso com o pagamento...
O Cadete ia partindo os frutos e distribuía a parte de cada um no banquete.
‑ Vá lá que ainda não são maus. Há um mês pareciam mel.
‑ Mesmo tocados e crestados, não têm espinhas. Mal empregada ração para os porcos.
Depois o saco fechou‑se e os sete ficaram estendidos no areal a fumar cigarros de barbas de milho.
Na noite, só aquelas sete estrelas lucilavam. As outras tinham‑se afogado e as luzes das vilas do Norte puseram‑se mais frouxas.
Passava pelo capelo do valado um rabo de vento sul que soprava rijo, Tejo adiante.
Os três gaibéus não sentiam agora o nove marcado no peito, nem o viam no dos rabezanos.
O Marrafa talvez pensasse nas cachopas que dormiam no barracão dos gaibéus. Mas não falava nelas.
Ali sentado na areia junto dos companheiros ouvia o pai do Cadete, a contar as aventuras da sua vida de ladrão.
«‑ Ainda hei‑de fazer uma lei nova. Ninguém mais roubará. Eu disto sei mais que todos os juizes que me julgaram e me levaram às Áfricas.»
Em voz baixa, o Cadete rezava a cantiga feita pelo Manel Felício e que na lezíria só ele se lembrava.
O vento mugia mais forte na copa das oliveiras e no caniçado da aberta. Ao longe, troou o ribombo de um trovão. Espasmos de luz beliscaram os crepes da noite. O Tejo já não dizia lamentos ao areal ‑ acometiam‑no convulsões de toiro metido à canga para amansia.
Na praia não lucilavam as sete estrelas.
Os rapazes iam pelo carril fora, a defrontar com o peito as rajadas de um suão de travessia.
Nas poisadas, os alugados que estivessem alerta pensariam que o dia de amanhã redundaria em jorna morta. O vento trazia‑lhes aquela certeza no seu uivar de lobo.
Os três gaibéus não pensavam nas ameaças, nem que as portas do barracão se haviam fechado há muito tempo.
Tinham conhecido naquela noite uma vida nova. Tornavam‑se bons companheiros do Forneças, do Cadete, do Passarinho e do Marrafa, e sabiam rir e gingar, embora exagerassem na imitação.
Não se consideravam agora os mesmos rapazes que ouviam os homens falar em coisas da vida, sem poderem intervir na conversa. Diziam‑lhes para crescerem. Os três pensavam que aquela noite valia por muitos anos na aldeia.
Achavam‑se outros, bem diferentes, mais homens do que muitos que lhes enzonavam conselhos parvos contra os rabezanos.
Uma noite destas, talvez amanhã, iriam conhecer a Menina, que valia, por certo, todas as cachopas que andavam no rancho. Quem seria a Menina"!...
O Marrafa devia ser tipo de mau gosto, ao que diziam os outros; conhecia lá o que eram fêmeas! Safava‑o ter um pente verde e um espelho com flores vermelhas e amarelas por detrás. Os três sentiam‑se indecisos se o pente e o espelho do Marrafa valeriam mais do que as redes de dois e quatro tombos do Passarinho. Não havia maneira de chegarem a acordo. O Nove preferia a rede de pássaros e os outros as prendas do Marrafa.
De qualquer modo, aquela era noite grande. Os quatro rabezanos já tinham ido para a mota dos bois onde dormiam e o barracão do rancho estava fechado a sete chaves. Que se lixem!
Os trovões ribombavam cada vez mais, de momento a momento, e os relâmpagos não deixavam de piscar.
Mas eles consideravam‑se homens e nada temiam. Já não eram três gaibéus ‑ agora tinham nome posto pelos seus amigos da Lezíria e talvez não regressassem à aldeia.
E adormeceram no canto do telheiro das máquinas, enrolados no calor da aventura.
Nos seus sonhos ouviram o pai do Cadete contar‑lhes as proezas da sua vida de ladrão.
MENSAGEM DA NUVEM NEGRA
Pareciam cercados no trabalho pelo braseiro de um fogo que alastrasse na Lezíria Grande. Como se da Ponta de Erva ao Vau a leiva se consumisse nas labaredas de um incêndio que irrompesse ao mesmo tempo por toda a parte.
O ar escaldava; lambia‑lhes de febre os rostos corridos pelo suor e vincados por esgares que o esforço da ceifa provocava. O Sol desaparecera há muito, envolvido pela massa cinzenta das nuvens cerradas. Os ceifeiros não o sentiam penetrar‑lhes a carne abalada pela fadiga. Lento, mas persistente, parecia ter‑se dissolvido no ar que respiravam, pastoso e espesso. Trabalhavam à porta de uma fornalha que lhes alimentava os pulmões com metal em fusão.
Quase exaustos, os peitos arfavam num ritmo de máquinas velhas saturadas de movimento.
A ceifa, porém, não parava, e ainda bem ‑ a ceifa levava o seu tempo marcado. Se chovesse, o patrão apanharia um boléu de aleijar, diziam os rabezanos na sua linguagem taurina. Eles próprios não a desejavam; se as foices não cortassem arroz, as jornas acabariam também. E se ao sábado o apontador não enchesse a folha, as fateiras não trariam pão e conduto da vila.
Então os dias tornar‑se‑iam ainda mais penosos e o degredo por terras estranhas mais insuportável.
Vencidos pelo torpor, os braços não param. Lançam as foices no eito, juntando os pés de arroz na mão esquerda, e o hábito arrasta‑os em gestos quase automáticos, mais um passo e outro, a caminho da maracha que fecha o extremo de cada canteiro. Caminham sempre no mesmo balouçar de ombros; as pegadas do seu esforço ficam marcadas na resteva lodosa.
Talvez muitos deles pensem que o arroz deitado nas gavelas repousa primeiro do que os seus corpos. Se pudessem deter‑se também, por instantes, e descansarem depois a cabeça nos montes de espigas que deixam atrás de si, a ceifa poderia animar.
Mas o bafo que vem da seara queima mais em cada minuto e as cabeças dos alugados pesam já tanto como o cabo das foices nos braços esgotados. Estão atafulhadas de amarelo, de pensamentos e de grãos de fogo que a canícula doente lhes insuflou no sangue.
Ninguém entoa cantigas para animar, embora os capatazes tenham incitado as raparigas cantaroleiras para o fazer. Nos ranchos não há agora quem saiba cantar.
Como podem as cachopas entrar em cantos ao desafio, se os peitos parecem fendidos pela fadiga e o ar que respiram se tornou lava do vulcão da planície?!
‑ Auga!... Auga!...‑gritam os rapazes aguadeiros.
Os seus brados parecem vogar sobre o rancho e não se dissolvem. Ficam a boiar na massa espessa da lava de fogo e angústia que cobre as searas. As palavras não naufragam.
Talvez por isso também as raparigas não cantem. Agora só saberiam canções tristes que lhes recordassem a sua condição de alugadas.
‑ Auga!... Auga!...
Os três gaibéus andam numa roda viva a encher os cântaros e a entregá‑los às mãos suplicantes dos ceifeiros. As gorjas agitam‑se na sofreguidão da sede, mas o travo amargo da boca não desaparece com a água choca e morna. O sol amolece tanto a água como os corpos dos ceifeiros.
‑ Auga!... Auga!...
Os rapazes vão de fila em fila e recordam‑se da história do pai do Cadete. Só agora compreendem as suas aventuras de ladrão.
Para o ceifeiro rebelde os brados dos aguadeiros assemelham‑se a gritos de socorro no meio do incêndio. Sente‑se mais abatido do que os outros, porque compreende as causas da angústia do rancho e sabe que os outros sofrem mais. Ele tem um norte. E os camaradas ainda não encontraram bússola.
«Se todos a tivessem...»
O ceifeiro rebelde pende mais a cabeça para a seara, como se as torturas e as esperanças lhe pesassem.
As camisas e as blusas estão empapadas de suor. Os homens trabalham com as camisas abertas e mostram a cabelugem crespa dos peitos afogueados. As mulheres gostariam agora, mais do que nunca, de ser homens também.
A espaços metem as mãos nas golas das blusas e sacodem‑nas, para que o ar, mesmo quente, lhes refresque os seios.
‑ Eh, lá!... Essas mãos!...
‑ Eh, gente!...
O ar fica a repetir aquela chicotada no silêncio opressivo. Nem um pássaro anda no ar. Não conseguem singrar agora naquele céu de metais em fusão.
Os pássaros não voam. Mas os ceifeiros trabalham.
A ceifa não pára ‑ a ceifa não pára nunca.
O Agostinho Serra tem os seus encargos, fala deles a toda a hora, e se começa a chover apanha um boléu dos grandes. A Senhora Companhia não perdoa a renda da terra, haja o que houver.
De quando em quando, um deixa a foice e vai saltando as travessas para se ir abaixar a boa distância do olhar dos capatazes.
E procuram todos o mesmo rumo. É que um deles passou ao companheiro do lado que na regadeira do meio a água ainda corre para os canteiros mais rezentos.
A notícia correu de ceifeiro em ceifeiro. Por isso levam todos o mesmo rumo quando largam a foice nas travessas.
Deitados de borco na linha que faz berço às águas, podem refrescar o rosto e molhar a cabeça à vontade. Um deles atirou‑se para dentro da regadeira, querendo apagar a chama que lhe consumia o corpo. Quando voltou ao rancho, disse ao capataz que caíra à regadeira, numa explicação tola.
‑ Empeci num almeirão, seu Francisco.
‑ Vais fresco, vais. Largas‑te aí com algumas sezões que não te ajudas com elas. Vai lá mudar de fato, homem.
‑ Obrigado, seu Francisco! Não vale a pena...
Pouco imaginativos, houve mais dois que tropeçaram no almeirão, E logo os capatazes se puseram à espreita.
‑ Nem mais um vai àquele lado. Quem se quiser abaixar, não passa do canteiro desta ponta. Ninguém os cobiça... Se o patrão soubesse desta paródia, era eu que o ouvia.
‑ Raio de danados!... Tenho aqui uma carga de abusões... ‑ acrescenta outro.
A lâmina das foices vai cega de todo. Os punhos não podem dar luz, pois o vigor já morreu de há muito. Só impulso dos braços tomba as espigas.
A ceifa corre lenta. Dolorosa e lenta.
E os capatazes bramam.
‑ Com essa porrada já temos sementeira para o ano. É mais o arroz que fica do que o que vai na espiga.
Os ceifeiros não os podem ouvir. Os ralhos não os espertam, porque todos amodorram por igual. Homens e mulheres, novos e velhos.
Nos corpos não há tréguas. As pernas estão alquebradas e os braços quase bamboleiam sem ganas. Os troncos detinham‑se a dores e as cabeças pendem como cabeças de enforcados. Nos rostos serzidos de esgares, os olhos apagam‑se e as bocas resfolegam a quererem digerir o ar de lava.
E a ceifa não pára ‑ a ceifa não pára nunca.
As velhas ciciam preces para que ela não pare ‑ a ceifa é o pão.
Mas a ceifa corre lenta. Dolorosa e lenta. E os capatazes bramam.
‑ Eh, gente!... Vá de animar essas mãos, que isto assim vai de enterro. Porrada pequena!...
‑ Eh, Ti Maria do Rosário!...
Aquela velha ficara para trás a cortar o espaço com a foice, e não via nem ouvia.
Imaginava que nunca cortara arroz em toda a sua vida com mais frenesi ‑ nem nos seus tempos de moça.
O capataz saltou ao canteiro e sacudiu‑a. Ela volveu os olhos e o Manel Boa‑Fé sentiu‑lhe o bafo quente da boca.
‑ Então, Ti Maria do Rosário?!...
‑ Hum?!...
‑ Sente‑se doente?!... Vá um quartel para o barracão... O corpo da velha sacode‑se num estremecimento de pânico
quando o capataz lhe fala em descansar.
Nem para ela nem para os companheiros a ceifa pode parar ‑ a ceifa é o pão.
‑ Eu, homem?!
‑ Pois!... Ficou‑se cá atrás... Ainda consegue andar? A velha vê os camaradas lá mais adiante, ora voltados
à seara, ora voltados à resteva, naqueles movimentos que à distância parecem absurdos.
O cérebro diz‑lhe que deve ir para junto deles, e depressa, mas as pernas já não obedecem ao seu mando. O capataz segura‑lhe os braços magros e tira‑lhe a foice.
‑ Isso não, Manel!... Isso não!... ‑ clama a Ti Maria do Rosário num desespero.
O corpo treme‑lhe, os olhos gotejam. Levanta as mãos numa súplica, não percebe o que faz e depois luta com o homem, desesperada.
‑ Ó Manel!... A foice... dá‑me a foice!... A ceifa não pode parar ‑ a ceifa é o pão.
Os companheiros continuam lá à frente, cada vez mais longe, a derrubar espigas e a amontoar gavelas.
‑ Auga!... Auga!...
De ceifeiro em ceifeiro, os três gaibéus oferecem água salobra e requentada que não mata a sede. Mas eles deixam‑na escorrer pelo queixo e a água ensopa‑lhes a camisa suada.
A figura da Ti Maria do Rosário, dobrada e trémula, torna‑lhes mais penoso o trabalho. Cada um conhece nela o futuro que lhes baterá à porta, um dia. O futuro atabafa‑lhes o peito, mais do que o ar ardente que queima os pulmões.
‑ Ó Manel... A foice... Dá‑me a foice!...
Os outros vão Já adiante a ceifar sempre e ela quer ir na sua companhia. O capataz lá a largou, mas olha os camaradas cada vez mais ao longe; sombras que se perdem.
E depois não os vê. Para onde foram?!...
Mas há‑de apanhá‑los, tem a certeza, pensa que vão a fugir para a deixarem só, mas ela vai passá‑los ainda, e então lhes fará ver quem sabe ceifar à carreira. Arrependem‑se do que lhe fizeram, pensa a velha. E quando lhe pedirem que espere há‑de desprezá‑los.
Pela lezíria fora ficará uma estrada larga, aberta pela sua foice, por onde os outros correrão a chamá‑la.
«Ti Maria do Rosário!... Ti Maria do Rosário!...»
Ainda não principiou o seu eito, mas já os vê junto de si. Ainda bem. Eles adivinharam o que lhes ia acontecer e voltaram depressa para trás. Ainda bem, não gosta de fazer mal aos outros, foi sempre boa companheira. Em toda a parte deixou amigos. E se pensava na desafronta, era só porque os companheiros se tinham posto a ceifar como máquinas e os perdera de vista.
Não falta muito: é uma corrida curta para se pôr à ilharga deles, ensinando‑lhes como se traça um eito na devida conta.
Cada ruga que lhe goiva o rosto é uma safra onde moirejou. E as rugas não têm conta no seu rosto mirrado. Se se pudessem contar, saberiam todos quantas ceifas já fez.
‑ Ah, Ti Maria do Rosário!...
A voz do capataz tira‑a de lembranças passadas.
‑ Que é, Manel?!... ‑ pergunta ansiosa.
‑ Vossemecê está doente...
‑ Eu não, homem... Credo! Deus Santíssimo!... Já lá vou. Pensa que uma corrida bastará para se pôr ombro a
ombro com as cachopas do rancho, as fingidas, que abalaram a correr da sua ilharga. Mas não perdem com a demora. Vai ensinar‑lhes como se ceifa a preceito. Então elas saberão quem se desenvencilha na faina ‑ sem dar balanço à espiga, sem esbugalhar um grão.
As pernas não querem ir, mas ela as saberá levar. E deita a correr pelo canteiro, de tronco engibado, braços magros a balouçar e lenço negro flutuando ao bafo da brasa que corre na campina.
Os capatazes vêem‑na quase aos saltos e ficam‑se a rir no capelo das marachas, sem compreenderem a ansiedade da velha. Os três gaibéus sabem que aquele riso não é o dos quatro rabezanos e o deles também.
No mesmo instante, a Tia Maria do Rosário estatela‑se no canteiro, sem uma contracção no corpo derrancado. Fica, porém, com a foice bem segura nas suas mãos descarnadas.
As saias, subidas com a queda, mostram‑lhe as coxas brancas e tísicas. Um receio momentâneo apodera‑se de todos.
Quando o Manuel Boa‑Fé salta à resteva já o ceifeiro rebelde largara a foice e voltava a velha nos braços.
‑ Ti Maria!... Ti Maria do Rosário!
E sacudia‑lhe o rosto de cera, encostava‑lhe o seu para lhe dar calor.
Quando a viram, assim, pálida de morte, as mulheres começaram em alarido e correram a rodeá‑la.
‑ Mãe Santíssima!... Ai, Nosso Senhor nos acuda!... Ih, Jesus! Ih, Jesus, Mãe do Céu, Maria Santíssima!
Atropelavam‑se primeiro na correria; acotovelavam‑se depois a quererem tocar‑lhe o rosto lívido, onde o suor frio punha camarinhas.
Os capatazes deixaram‑nas à vontade por algum tempo, mas logo bramam com o abuso.
‑ Vai de rodar e ir à ceifa!... Gente de marca negra!... ‑ Eh, lá... tu! Desanda!...
‑ Esse trabalho adiante!...
‑ Vá lá de olhar, que eu já te vi.
As foices voltam a cortar o espaço no derrube dos pés de arroz, logo acamado nas gavelas.
O ar não se respira ‑ mastiga‑se. O arfar dos peitos torna‑se agora mais penoso. As bocas ficam mais sedentas ‑ talvez a sua sede não seja agora só de água.
A ceifeira débil tosse fundo ‑ e escarra sangue.
E lembra‑se do filho que ficou no carril, entregue aos mosquitos e às melgas. A sua máscara alaga‑se de angústia estagnada como a de um charco.
O látego das imprecações dos capatazes não consegue aligeirar as foices que andam trôpegas no seu vaivém. O ramalhar das panículas é rumor que parece vir de longe e quase se perde.
Não há palavras ‑ não há cantigas.
Há só o ar em fogo a consumir os corpos.
A Ti Maria do Rosário ainda não sente a lufada de lava do ar que corre. O ceifeiro rebelde leva‑a nos braços, como se ela fosse uma criança adormecida pelo embalo de alguma história.
O Manuel Boa‑Fé deu‑lhe ordem para a levar ao barracão e ele vai com a companheira pelo carril, imprecando entre dentes. Os pensamentos pesam‑lhe no corpo. Julga ouvir ainda a voz humilde da velha na mesma súplica: «Ó Manel!... A foice... Dá‑me a foice!...»
Gostaria de dar a todos os homens o seu amor de irmão, mas homens havia que lhe pediam ódio. Fazia‑lhes a vontade: odiava‑os tanto como amava os outros. Que bom seria, se todos pudessem dar as mãos e compreender‑se. Mas os outros não querem. Os calos do ceifeiro rebelde manchariam outras mãos que não pegassem em cabo de enxada e em foices.
Estes pensamentos pesam‑lhe no corpo. A Ti Maria do Rosário vai‑lhe nos braços, mas não o alquebra ‑ dá‑lhe alentos.
Chama‑a de quando em quando para adivinhar o que se passa com ela. A companheira, porém, não lhe sabe responder. As mãos já se agitam, mas no rosto o suor ainda corre pelos trilhos das rugas fundas ‑ tantas como as safras que lhe passaram por cima.
Um tropel fá‑lo erguer a cabeça, debruçada no corpo miúdo da Ti Maria do Rosário.
O cavalo encaracola‑se vaidoso, ladeando de ‑cabeça às upas e de mãos bem erguidas. Os seus relinchos são de júbilo, porque patrão Agostinho lhe afaga o pescoço de pêlos luzidios, como batido por reflexos de oiro. Mete‑lhe as mãos nas crinas para as deixar correr depois, e de novo, pela garupa de recorte airoso.
O Forneças, se estivesse ali, diria que aquele era o Doirado ‑ um cavalo inteiro que o patrão gostava de montar, embora fosse rijo de boca. Uma bonita estampa, sim senhor, filho da Garrafa e de um garanhão da Senhora Companhia, que o alugara, para saltar às éguas lá da casa.
Naquele ano todos os poldros saíram de gosto. Mas nenhum tinha como aquele reflexos de oiro na garupa e nas ancas. O maioral logo lhe chamara Doirado e o patrão montava‑o sempre que aparecia no campo e dava volta à emposta.
Os criados diziam entre eles que o Agostinho Serra, quando ia no Doirado, ainda se mostrava mais patrão.
‑ Toma uma proa... Parece de pedra.
Ia de sevilhano na cabeça, jaqueta e calças cinzentas, esporas muito reluzentes no contraforte da bota alta.
E assobiava ao cavalo, que o parecia compreender, relinchando e levantando as patas, como se dançasse. Atrás deles nunca faltava o Madrid, um galgo cor de pinhão, esguio que nem tísico, mas tratado a boa comida. Aquele recordava ao patrão uma espanhola que conhecera em Lido. E como a não pudera trazer ‑ nem um retrato, ao menos, para os amigos verem que tinha dedo para mulheres ‑ chamara Madrid àquele cão, que a acompanhava quando corria às lebres.
O Doirado e o Madrid fizeram‑se os melhores companheiros de Agostinho Serra, se ele ia dar volta à emposta ou se queria mostrar‑se no Norte.
Eram o seu maior orgulho de lavrador ricaço ‑ o cavalo, o galgo e as cachopas que lhe caíam nos braços. Os amigos sabiam que andavam por mais de trinta e repetiam o número com admiração e uma pontinha de despeito.
‑ Muito boa febra tem comido o Agostinho!...
Não se governava só com gaibéuas e carmelas. Mesmo raparigas da Borda‑d'Água não lhe escapavam, se dava em reparar na sua graça. E até as tivera oferecidas pelos pais, que lhe sabiam a bolsa larga para aqueles negócios.
O ceifeiro rebelde já o conhecia de uma monda e decorara‑lhe a voz, sempre dura para os alugados.
O Doirado, quando o viu, relinchou mais e desmanchou o passo apurado.
Nem os afagos do dono o aquietaram, nem o assobio lhe tirou o sentido do cheiro.
Tomava medos repentinos, como se para além do ceifeiro ou de um valado fosse encontrar a morte. O dono gostava de lhos tirar, ora acariciando‑lhe o pescoço, ora fincando‑lhe as esporas.
Doirado!... Oh!... Ah!... Doirado.'...
De cabeça empinada, dentes à mostra e narinas a resfolegar, o cavalo foi andando aos poucos ‑ agora a ladear, para logo depois avançar às upas, fincando‑se nas patas.
‑ Deixa‑te estar, homem, deixa‑te estar...
O ceifeiro metera‑se à berma do carril para que o patrão passasse.
Mas o Agostinho Serra queria que o cavalo visse bem o perigo pressentido e perdesse o medo. Só estacou quando chegou junto do alugado.
O cavalo relinchou e sacudiu a cabeça, fixando os olhos no ceifeiro rebelde.
‑ Doirado!... Oh!... Ah!...
O cavalo acabou por se aquietar:
‑ Que foi isso?!...
‑ Estava na ceifa e caiu. A modos que...
‑ Alguma pinga de vinho, naturalmente. Estou farto de dizer que nesta emposta não quero gente bêbeda.
‑ Saiba o patrão que não é isso. Já é velha... o cansaço entrou com ela.
‑ Pior ainda. Estou farto de dizer aos capatazes que só me tragam gente sã. Pagar caruncho não me serve.
O ceifeiro olhava‑o de expressão parada. Os pensamentos corriam‑lhe em tropel no cérebro.
‑ Vai‑te lá! E asas nesses pés, que eu não te pago para andares com velhas às costas. A que rancho pertencem vocês?
Deu de esporas ao cavalo, antes que o ceifeiro lhe respondesse, mas ficou a ruminar. E voltou atrás.
‑ Ouve cá!... Quando se fala comigo, quero esse chapéu fora da cabeça.
O outro mostrou‑lhe a companheira e não deu palavra.
‑ Pois sim!... Mas é para saberes. Faltas de respeito é que não!... Isto aqui anda tudo afinado, ou acaba‑se o trabalho. Para sempre, percebeste?... Não tenho medo que não me gramem.
Nos olhos do ceifeiro havia agora um clarão de ira. ‑Vai‑te lá. E não me faças essa cara, que o medo não me conhece. Faltas de respeito é que não consinto!
O ceifeiro rebelde queria abrir o coração a todos os homens, mas alguns só lhe pediam ódios e ele tinha de os odiar tanto como amava os outros.
‑ Faltas de respeito é que não!... ‑ insistiu ainda o lavrador.
Os capatazes no arrozal já tinham descoberto o patrão Agostinho pelo carril acima, e os remoques para o pessoal não cessavam. A nova correu depressa pelas filas dos ceifeiros, de canteiro em canteiro. As cabeças seguiam‑se a espreitá‑lo por riba do manto de panículas e disfarçavam depois.
Todos o viram aproximar‑se num trote curto, firme na sela, mão apoiada no quadril, ao jeito dos campinos.
Os braços dos ceifeiros quiseram ter outros vigores para que as foices andassem mais ligeiras e o ritmo da ceifa se apressasse, mas o ar abafava mais, sempre mais, e os alugados sentiam‑se invadidos por um abatimento que os vencia.
‑ Eh, gente morta!... O patrão vem aí e com um trabalho destes há‑de dizer das boas.
‑ Vamos lá com isto mais safo!
‑ Eh, gente!...
Era preciso mais pressa ‑ o patrão estava ali não tardaria muito e eles não juntavam novos alentos para ceifar.
‑ Vá, gente!... Eh, gente!...
As éguas na eira não ouviam tantos gritos. Era preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa.
As mãos tremiam nos cabos das foices e apertavam‑nos nervosas.
O sol ainda não aparecera. Mas as bocas resmoíam a clamar sem gritos. As cabeças giravam num remoinho; levavam no seu corropio as foices e as espigas, as gavelas e os canteiros.
O sol dissolvia‑se no ar e eles sorviam‑no pelas narinas dilatadas. O ar queimava. O céu ficava pardo, como se lá tivessem subido as cinzas da fogueira que ia da Ponta de Erva ao Vau.
‑ Eh, gente!... Vá, gente!...
Era preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa.
Os troncos pareciam ter ficado nas carcaças; as dores devoravam as carnes. A Ti Maria do Rosário não ia ali com eles, porque caíra sem forças. Viam‑lhe o corpo débil, sacudido de estertores, c o rosto de cidra trilhado de rugas, por onde o suor corria.
Ela anunciava o futuro de cada um. O futuro apertava‑lhes mais o peito do que o ar que não podiam sorver.
‑ Vá, gente!... Eh, gente!... ‑ insistiam os capatazes na mesma lengalenga que já não atemorizava ninguém.
Era preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa.
As espigas caíam cingidas pelas suas canhas. As gavelas faziam‑se imagem da sua luta sem tréguas.
Não ceifavam já só os pés de arroz ‑ ceifavam a própria vida.
O patrão vinha aí. E a seara e a vida deles pertenciam‑lhe. O Agostinho Serra era o dono do arrozal e dos ceifeiros. Eles não passavam de alugados ‑ serão homens?... As máquinas não pensam ‑ e eles poderão pensar? Todos se sentem ligados a um gerador comum que lhes imprime movimento acelerado ‑ o patrão vem aí.
‑ Eh, gente!... Vá, gente!...
Era preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa.
Aquele látego sibila no ar e corta‑lhes o dorso. O suor escorre‑lhes nas testas franzidas. Na resteva ficam xabocos. Podiam imaginar que a água daquelas poças lhes caiu dos rostos.
A ceifa não pára ‑ a ceifa não pára nunca.
Adiante sempre.
A água dos xabocos não lhes reflecte as cabeças pendidas. Mas reflecte nas bocas torcidas a tortura da sede.
As espigas tombam vencidas ‑ só eles não caem. A Ti Maria do Rosário não ganha a ceia e eles precisam de ganhá‑la.
‑ Vá, gente!... Eh, gente!...
Era preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa.
Mais pressa porque o patrão já chegara acima da travessa a falar com o capataz dos rabezanos. E depois viria ali.
Os três rapazes também ceifam. Agora ninguém bebe água. As mãos não conseguem ficar agarradas aos pulsos. Apodreceram, talvez. Eles não as sentem, mas as foices continuam a cortar espigas. E as gavelas marcam o rasto do seu caminho...
Ninguém canta. Ainda se alguém cantasse, poderiam esquecer talvez que o patrão se aproximava. Até raparigas cantaroleiras perderam o cantar.
Só na vala de esgoto e nos canteiros virgens as rãs coaxam.
‑ Vá, gente!... Eh, gente!...
Era preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa.
Os ceifeiros ignoram se são os capatazes que falam ou as rãs que coaxam. As vozes confundem‑se. Os capatazes também coaxam e as rãs falam.
As rãs aprenderam o bramar dos capatazes, é por isso que os rapazes lhes atiram pedras, quando as vêem refasteladas ao sol ou a esgueirarem‑se no seu saltitar pesado.
Nem o rufiar de umas asas no céu ‑nem os milhanos querem presa, nem as calhandras grãos.
‑ Eh, gente!... Vá, gente!...
As aves arranjaram abrigo na rama das oliveiras e dos salgueiros.
Só os gados continuam cá fora a sorver o caudal em fusão do sol dissolvido.
Os gados e os ceifeiros ‑ tudo gado.
Os bois remoem na leiva do milheiral já recolhido. As éguas tasquinham nos restos da seara de grão que não vingou. Os ceifeiros abatem as panículas de arroz.
Só os gados continuam cá fora.
Céu cinzento e triste ‑ os ceifeiros levam também a alma cinzenta.
Céu e ceifeiros ‑ planície e fogo.
Os gados e os ceifeiros ‑ tudo gado.
Era preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa.
Mais, sempre mais ‑ agora ainda mais.
O patrão da companhia do arrozeiro está ali a dois passos, com o chapéu sevilhano derrubado para a nuca, de polegares nas axilas e expressão calma no rosto.
Foices ligeiras e eles não sentem as mãos. Caras à seara, caras à resteva'. Ramalhar de espigas e estalidos nas gavelas.
As cabeças num rodopio, dos xabocos ao céu cinzento ‑ tudo em vertigem. Bocas secas.
‑ Auga!... Auga!...
Mas agora ninguém bebe água.‑ A água é o suor que jorra das frontes e se perde na resteva ‑ que brota dos troncos e ensopa as camisas e as blusas.
Peitos a estalar como gleba estorricada de securas ‑ peitos abertos de dores fundas. Só as tosses ali falam. As tosses e os capatazes ‑ e o patrão.
Era preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa, sempre mais.
Mais depressa ainda.
‑ Eh, gente!... Vá, gente!...
As éguas nas eiras não eram tão açoitadas.
‑ Eh, Maria! Essa foice menos sacudida!...
‑ Tudo certo!... Essa ponta ceifada!...
Mãos ligeiras ‑ mas eles não sentem as mãos. Foices alegres e azougadas ‑ mas as foices pesam como charruas.
‑ Auga!... Auga!...
Agora ninguém bebe água ‑ é preciso mais pressa, cada vez mais pressa ‑ sempre mais. Isto não fica assim... Este calor não é de Outubro...
‑ Vai chover, à certa!
‑ É coisa que passa, patrão.
‑ Amanhã enrolheirava‑se o arroz ceifado ontem... Queria ver se na sexta já começava a debulhar.
‑ Mais vale agora ao cedo que ao tarde. Há aí canteiros que ainda agradecem a sua pinga.
‑ Mas dá‑me humidade ao já ceifado.
‑ Isto são rumores da Lua, patrão Agostinho. Não é chuva de raiz.
Os alugados ouvem a sentença do seu destino.
‑ Vai chover!
Bem percebiam há muito que um calor assim não pertencia àquele tempo. O Sol não descobrira e o ar queimava, pior ainda do que nas ceifas do trigo.
Mas eles não queriam pensar na chuva. A chuva tornava‑se mais dolorosa do que a canícula sem sol. As foices iriam parar e a ceifa era o pão.
No domingo, as fateiras voltariam da vila com os sacos mais escassos. Ainda os rabezanos achariam quem lhes fiasse, nasceram ali, e sempre nalguma loja lhes dariam, a rol, o pão e o conduto para a semana.
Mas eles eram gaibéus e aos gaibéus ninguém fiava. O que é um gaibéu?... Quem sabe donde vem e para onde vai um gaibéu?... Só aos capatazes o pão não faltaria, eram eles quem negociava nas lojas o avio dos fatos para os ranchos. O padeiro e o merceeiro não os esqueceriam, que os alugados bem pagavam tudo quanto lhes dessem.
Vai chover. Quando?!... Já amanhã?!...
E é preciso mais pressa ‑ cada vez mais pressa.
Não há forças, nem há alentos para mover as foices. As cabeças já esqueceram o calor. As bocas vão secas e não se lembram de que a água as pode refrescar.
Um novo destino os domina agora.
É preciso mais pressa ‑ mas vai chover.
A ceifa é o pão ‑ e as foices vão parar.
‑ Eh, gente!... Vá, gente!...
Os capatazes bem podiam bramar; ganhavam sempre. O pão e o conduto não faltariam e a jorna seria igual no fim da semana.
As mulheres bichanam preces. Os homens ficam abatidos. O ceifeiro rebelde pensa que os outros saberiam despertar para a vida, se fosse sempre assim.
‑ Se o patrão me dá licença, eu vou fazer uns piques, lá abaixo, àqueles canteiros de P. 6. Fez‑se ali uma rica seara!
‑ Vá lá, seu Henrique, vá lá. Trate‑me disso bem.
‑ Melhor, patrão Agostinho? Tenho‑lhe andado com um gosto...
E abriu a bocarra num sorriso largo, que mostrou os dentes negros e as gengivas descarnadas e brancas.
O patrão deu a volta pelos combros e postou‑se à frente do rancho. Quando levavam as espigas a engavelar, os ceifeiros viam‑no. Parecia‑lhes que era a imagem da chuva ‑ o senhor dos seus destinos.
Tinha‑se postado ali como uma mira, e o rancho azafamava‑se ainda mais para o atingir. As foices andavam vivas, como se além, naquela travessa, a faina findasse e os alugados pudessem repousar, descansando as cabeças, em vertigem, nas gavelas loiras. Mas ele era a imagem da chuva ‑ ele era o senhor dos seus destinos.
A faina não terminava ali. E ainda bem. As foices continuam enganadas.
‑ Pancada pequena, eh, gente!... Não sacudam esse arroz! A um sinal do patrão, o Francisco Descalço aproximou‑se‑lhe.
As espigas tombavam sempre.
‑ Ó Francisco!...
O capataz relanceou os olhos pelo rancho, para saber que os ceifeiros viam o Agostinho Serra naquela atitude.
‑ Preciso lá em baixo de uma rapariga para me tratar das coisas... As mulheres lá dos teus sítios são boas donas de casa...
‑ Pois sim, patrão!... ‑respondeu‑lhe numa voz apagada. E veio‑lhe à lembrança a imagem da Rosa, contrafeita
no meio do canteiro; sem entender porquê, a rapariga deixara descair a mão até às coxas.
As mulheres ouvem as palavras do Agostinho Serra e do capataz.
As que tinham vindo àquela emposta noutras ceifas e mondas já sabiam da escolha. Algumas delas conheciam o aposento e a cama do patrão.
E alçaram a cabeça para que ele as visse.
Lá em baixo não havia sol nem foice. A jorna era mais larga, a comida a mesma do Agostinho Serra e o Inverno corria em casa sem fome. Não havia que pedir de fiado nas lojas; a lareira teria sempre lume. Nisso, ao menos, o Agostinho Serra abria bem as mãos.
O olhar delas queria lembrar ao patrão os momentos de entrega, mas ele não tinha boa memória. Os seus olhos em súplica nada lhe diziam já.
Essas levantavam a cabeça para lembrar o passado e outras havia que a tinham mais tombada, como a escondê‑la no lençol das espigas.
‑ Talvez a Engrácia, patrão. Como cozinheira não há outra; e aquilo... é o apuro do asseio. Nem as moscas lhe bolem.
O lavrador não lhe respondeu. Os olhos vagueavam pelo rancho, saltitando de mulher para mulher. Chegara à feira, podia escolher. O seu corpo já sentia um afago a percorrê‑lo.
E as espigas caíam, como fendidas de morte.
As cachopas de cabeça pendida não viam a maracha onde o canteiro terminava. Mas sabiam que o seu futuro se talhava ali.
Ali estava o dono do seu destino.
A Rosa lembrou‑se do João da Loja. Ouvia‑lhe as palavras: «Se ela quisesse... Também tu, mulher!... Não queres, pronto! Eu sou teu amigo à mesma! A loja, os bocaditos, tudo era teu!...» E sentia‑lhe os braços a agarrá‑la e a boca, encimada pelo bigode loiro, a procurar a sua.
Depois o João da Loja transformava‑se no Francisco Descalço, a mirá‑la também da cabeça aos pés, com uma expressão que era irmã da do João da Loja.
«Pois sim, cachopa, pois sim. Não houvera lugar para mais ninguém...»
Já pelo caminho viera à sua banda. Já na poisada quisera a esteira ao pé da sua.
Ela estava como viera ao mundo, mas fora mulher de muitos nos olhares e nas palavras. Sabia‑os de cor, como as mulheres da Pedro Dias conheciam homens.
Não via agora o patrão, mas adivinhava‑lhe o rosto ‑ lembrava‑se do João da Loja e do Francisco Descalço.
A ceifeira débil tossiu e acotovelou‑lhe o braço. Essa pensava outra vez no rapaz de barrete verde e carapinha encarnada.
Na Rua Pedro Dias as mulheres debruçavam‑se das janelas para chamar os que passavam; tinham as caras vermelhas, mas não era do sol nem do esforço da ceifa.
Lembrou‑se dos seus olhos tristes, enquanto as bocas sorriam.
Só uma vez passara àquela rua na feira de Santa Iria. Julgava‑a uma rua como as demais.
Mas a Pedro Dias era o prolongamento da feira. Ali os homens mercavam afagos novos, enquanto as mulheres tinham os olhos tristes, embora chamassem e gracejassem com os homens que passavam.
O ramalhar das espigas parecia‑lhe agora um rio que passava perto dela e a queria levar. Fincou os pés na resteva para se opor à corrente, mas era débil e a corrente levava‑a num remoinho estouvado pela vida fora.
E o rio desaguava na Rua Pedro Dias, onde tinha visto mulheres de cara vermelha a sorrirem aos homens que andavam na feira a fazer compras.
Sentia os olhos vidrados de água e a alma em crepes.
Também as outras tinham os olhos tristes... E viviam naquela rua que era o prolongamento da feira.
Nunca mais lá passara e jamais a esquecera. Havia lá uma mulher irmã dela.
«‑ Ó Maria!... Ó Maria!... Vai ali uma barroa que parece mesmo a Balbina.»
Aquelas palavras, ditas por uma voz rouca, voltavam‑lhe aos ouvidos. Essa mulher marcava o seu futuro.
Ela agora não era a Rosa do rancho do Francisco Descalço, mas a Balbina da Rua Pedro Dias ‑ noiva de todos que mercassem afagos.
Estava perto da maracha, bem o adivinhava ‑ e ali levantava‑se o dono do seu destino.
O rio levava‑a na corrente e ela não arranjava forças para lhe escapar. As espigas caíam sem cessar.
‑ Dessa ponta, saltem ao outro lado! ‑ gritou o Francisco Descalço.
As cachopas que levavam a cabeça pendida tiveram de a erguer.
O Agostinho Serra viu‑as passar de faces vermelhas e olhos no chão.
«Como ele gostava das mulheres com aquele jeito...»
Ela puxou o lenço ao rosto e saltou de cabeça baixa. O Francisco Descalço estremeceu e desejou‑a mais.
‑ Eh, cachopa!...
‑ Senhor!...
Parou, como tolhida, mas não se voltou.
‑ Tu já vieste aqui alguma vez?!... Um aceno respondeu‑lhe.
O patrão sentiu‑se atingido no seu orgulho.
‑ Pois, seu Francisco, é preciso ensinar a gente do seu rancho a olhar‑me de frente, quando eu lhe falo. Não há outro em toda a Lezíria mais amigo do pessoal. Agora faltas de respeito... é coisa que me não gruda.
A ceifeira ficara na mesma atitude. O capataz titubeava, desajeitado nos gestos...
‑ Desculpe o patrão. Isto são uns bichos... Vai‑te lá, cachopa.
Ela deu dois passos, mas tolheu‑se de novo. A voz do Agostinho Serra bramava alto:
‑ Quando eu estou, só eu dou ordens, seu Francisco. Silêncio.
‑ Eh, rapariga!... Volta aqui!...
Deu‑lhe ganas de atirar a foice e abalar. Se fosse junto dele, não seria mais a Rosa do rancho do Francisco Descalço. Seria a Balbina da Rua Pedro Dias ‑ noiva de todos que mercassem afagos.
‑ Faltas de respeito é que não consinto. Volta aqui! Depressa!...
E lembrou‑se de que a chamava o dono do seu destino. Dali vinha o pão. Na terra não havia trabalho e o Inverno não tardava. Depois lá estaria o João da Loja a espreitá‑la...
‑ Assim a gente entende‑se. Pessoal de respeito, que eu também.. Olha que essa!... Para saberes que não sou mau, vais lá para o meu aposento. Vai lá, anda!
Ela continuou sem um movimento. Estava à frente do patrão, de mão descaída, como a tapar o sexo.
‑ Está lá a Maria Gadanha e ela ensina‑te tudo. Vai, anda!... Diz‑lhe que janto cá.
Passou pelas outras e não as viu. Já não era a sua companheira de trabalho. Tinha os olhos tristes e chamava‑se Balbina ‑ Balbina da Rua Pedro Dias.
O Francisco Descalço embezerrara e falava por monossílabos. O Agostinho Serra fizera‑se mais conversador do que nunca. A calma voltara‑lhe e sorria.
‑ Isto não vai mal, 6 Francisco!... O pessoal deste ano é afiançado.
A ceifeira ia pela linha abaixo, de rumo aos aposentos.
‑ Tens alguma doença, Francisco?
‑ Não, senhor!...
‑ Estás com cara de enterro, homem!
O capataz debatia‑se na incerteza do caminho a tomai'. Trouxera‑a consigo, entregue aos seus desejos. Conhecia‑lhe a indiferença, mas saberia vencê‑la. Nunca outra mulher lhe tomara tanto os pensamentos. Construíra todo um plano, revolvendo‑se à noite na esteira a mirá‑la de longe.
E agora tudo caíra por terra. Quase se perdia no doirado da seara a imagem dela, e Francisco pensava que aquela cachopa não voltaria mais ao seu rancho.
Com o queixo encostado às mãos, que se pousavam no cajado, tinha‑se afastado da realidade. O roçagar das espigas não lhe dizia que ali se ceifava. Era um eco do seu tormento.
As ga velas iam crescendo sempre. E o patrão assobiava, atirando verdascadas a um almeirão.
Os ceifeiros pensavam que deviam trabalhar mais depressa. As foices precisavam de se alegrar, mesmo que os braços estivessem mortos de vigor e as mãos se perdessem como flores desfolhadas.
O calor tornara‑se mais doloroso.
‑ Ó patrão!...
‑ Julguei‑te mudo, homem. Pensei que te tinhas esquecido de que eu estava aqui.
‑ Não, senhor!... É que tinha de lhe dizer...
‑ O quê?!...
Fez uma pausa demorada.
Os peitos dos alugados resfolegavam ali perto. Ambos os ouviam. Ao longe chocalhavam campainhas de toiros amansados. O Sol continuava encoberto.
‑ A cachopa vem ao meu cuidado... ‑ E então?...
‑ Eu pedia ao patrão Agostinho...
A ira subiu ao rosto do lavrador. Tirou os polegares das axilas e agitou as mãos, nervoso.
‑ Aquilo lá em baixo não é uma casa qualquer, seu Francisco. E em coisas dessas ninguém me leva a mão, nem ninguém me dá lições.
‑ O patrão sabe... ‑interrompeu o outro, arrependido de ter falado naquilo.
‑ O que eu sei é que se não fosses tu a falar nisso, a coisa ia séria. Outro qualquer não tornaria a pôr aqui mão em trabalho meu. Mas eu sou teu amigo, Francisco, tu sabes.
‑ Eu sei, patrão. Mas um homem é um homem...
‑ Pois sim, não há dúvida. Cá no Campo eu não sou homem: sou o patrão. As mulheres aqui não me servem. Pago‑lhes e ceifam. Mais nada!. Era o que faltava!
‑ Eu não quis ofendê‑lo ‑ respondeu‑lhe o capataz, já brando. ‑ O patrão sabe...
A ira do Agostinho Serra foi‑se dissolvendo.
‑ É claro que, vendo bem as coisas, tu tens razões...
O Francisco Descalço sorriu e esfregou a barba com a mão trémula.
‑ Vens entregue à rapariga e é uma responsabilidade. Mas comigo bem sabes que não há coisas com fêmeas. Lá pela vila e em Lisboa não me faltam mulheres.
‑ Faz o patrão bem. Elas chegam‑se...
‑ É claro!... Agora aqui... Todo o respeito não basta. Fica descansado, Francisco! Está lá a Maria Gadanha...
O capataz pensava que bem podia ter perdido o lugar com aquela mania da rapariga. «Que aquilo era um pedacinho...
Mas valia lá as boas graças dum patrão como o Agostinho Serra!»
‑ O senhor desculpe...
‑ Ó homem! Tu estavas no direito. Sim... tu estavas no direito. Agora eu é que me escamo todo quando me falam em coisas de moralidade. Nisso... ó Francisco! Pode Deus cobrir homem mais zeloso do que eu em coisas dessas?
E pôs a mão no peito.
Um brilhante de anel refulgiu‑lhe no dedo.
O Francisco Descalço voltou‑se para o rancho. O outro capataz era um boa‑fé e não sabia mandar. «Quem lhe tinha posto o nome...»
‑ Eh, gente!... Ronceirarem pouco! Voltou‑se depois para o patrão:
‑ É bom pessoal, mas preciso de lhe andar em cima.
E mudando de tom: ‑ Pois o patrão não leve a mal aquela coisa. A rapariga é uma pêra doce e eu... compreende... A mãe entregou‑a ao meu cuidado.
‑ Estás no direito, homem. Sim... tu estás no direito. Não se fala mais nisso. E se a rapariga é, como dizes, uma pêra doce, ainda bem que a mandei lá para baixo. Ali há respeito! A Maria Gadanha é mulher de honra e guarda‑a como se fosse sua filha. E por aqui, com esta malta, ninguém pode garantir o que acontece.
O capataz abanou a cabeça, a concordar.
‑ Os rapazes não a largavam com certeza; andavam‑lhe de volta, como moscas ao mel. E se não fosse na pala dalgum companheiro, um dos meus campinos não a deixava quieta.
‑ Lá isso também é verdade.
‑ Tem‑me olho nessa gente, que eu vou por aí abaixo. E fica descansado.
‑ Ó patrão!...
E pôs‑se a ruminar, olhando o rancho e o céu, enquanto passava o lenço pela testa e pelo rosto.
«Palavras doces tinha ele. Agora obras... Empanzinava as raparigas e depois toca de as casar, se a coisa se tornava feia. De quantos casamentos e de quantos cachopos já fora padrinho? Valia‑lhe o dinheiro!... Se ele também avezasse uma fortuna irmã, não lhe faltariam mulheres. Agora assim... Olha que admiração!»
‑ Eh, gente!... Raios partam o trabalho que vossemecês estão a fazer!‑gritou com ira.
A imagem da Rosa crescia de novo dentro dele. «Uma moça tão sã e tão lavada... e vai‑me aquele bruto sujá‑la...»
Eh, rapaz duma alma do diabo!... Eh, tu!... Parece que andas aí a ripar o arroz!...
Os ceifeiros acotovelaram‑se e sorriram. Eles compreendiam bem a causa dos ralhos do capataz.
As foices, porém, não iam mais breves por isso. O calor é que sufocava mais do que nunca. Parecia que mão de gigante lhes apertava o gasganete, tapando‑lhes a respiração.
Aquele calor trazia chuva. O patrão já o dissera e ele era o dono dos seus destinos.
Lá para o norte o céu fizera‑se todo cinzento, de um negro levemente desbotado. E queria invadir o cinzento dali, alargando como os círculos de água.
O negrume do céu era mensagem de fome. A angústia dos ceifeiros, o seu espectro.
A cavalo, o patrão seguia pelo carril e as foices podiam esquecer‑se das espigas. Os ralhos do Francisco Descalço faziam sorrir. Mas a mancha negra queria alastrar por todo o céu e já chegara até eles, tornando‑os sombrios.
‑ Vá lá essa coisa!... Estás a ver se a féria te cai do céu, ó quê?... O que está para chover não é dinheiro, ó raparigas...
Quem mandava ali não era o Francisco Descalço, mas a mancha negra que assolapava todo o norte. O capataz estava assim porque o patrão lhe levara a Rosa. Se não fosse a mensagem da mancha negra, eles sorririam dos seus ralhos.
Um trovão troou ao longe e o seu sussurro cavo ficou suspenso na alma dos alugados. As preces bichanadas entre os lábios quiseram apagá‑lo. O eco daquele ribombar consumia as preces.
Os alentos abalaram com ele e não queriam voltar.
As foices pareciam perdidas na floresta das canas do arrozal, sem saberem o norte. As gavelas eram os trilhos da sua marcha, mas os ceifeiros não pensavam nelas.
Outro trovão e depois outro.
Os olhos de alguns tinham‑se inundado da luz dos relâmpagos a piscar. Vinha com eles a noite da mancha negra que lhes trazia mensagem. E a mensagem dizia‑lhes que a ceia não se ganhava.
Antes a brasa do sol diluído a mastigar os pulmões e as cabeças, em remoinhos de fadiga. Mesmo de mãos perdidas, eles queriam ceifar ‑ a ceifa trocava‑se por pão. Tinham vindo lá de cima para o ganharem e guardar alguma coisa para o Inverno. A jorna não bastava, mas eles racionavam‑na. A vida de alugado era sempre igual e não havia que estranhar.
Um trovão mais forte abalou tudo. Um ziguezague de lume cortou os longes. E as cabeças penderam mais, subjugadas por aquela certeza.
Alguns ficaram ainda a lutar, confiando na mancha negra ‑ talvez pairasse só no Norte e não chegasse até ali.
Ainda se alguma mulher pudesse cantar... Mas as bocas e as almas continuavam secas. Haviam esquecido todas as canções ‑ e só a mancha negra cantava. Um canto soturno que fundia os corpos em desalento.
Não traziam embalos aqueles sussurros nem tinham luz aquelas luzes.
As camisas e as blusas estavam repassadas de suor e a lava de vulcão do ar parado queimava mais ‑ a chuva vinha aí. Já no norte as suas cordas caíam a unir‑se à terra, a engrossar os ribeiros e o Tejo, a empoçar nas ruas e nos caminhos.
‑ Eh, gente!...
‑ Se isto vai assim, mando desferrar!... Trabalho fingido não vence jorna!
As foices despertam. Os corpos amodorram. Os olhos vêem a mancha a alargar‑se e parece‑lhes que invadiu todo o céu e cobriu a serra.
Agora não ceifam arroz ‑ ceifam a mancha negra.
E os primeiros pingos caem ‑ são pingos de metal em fogo. Os corpos estremecem. A chuva queima, mas é fria. Mais fria que o orvalho da manhã, a lacrimejar nas espigas.
Os capatazes puxam ao peito as bandas do casaco. Os ceifeiros pensam que aquilo vai passar e o trabalho não pára. Os pingos soam‑lhes nos ouvidos, como porradas de malhos.
E são muitos pingos ‑ e são muitos sons. Uma orquestração que traz a mensagem da mancha negra.
Misturada ao suor, a chuva cai sempre. Ouvem‑se tosses a estalar nos peitos cansados. As foices fazem‑se mais vivas para que os capatazes não mandem desferrar.
As preces, porém, não vencem a chuva; as imprecações não a atemorizam.
Látego que fustiga sem cansaço, verdasca os dorsos dos ceifeiros e escorre‑lhes das nucas e das mãos. Sulca‑lhes nos rostos quando se voltam à resteva a engavelar e apaga‑lhes a seca das bocas febris. Vão de empreitada, como se o patrão tivesse voltado para ver o trabalho e eles quisessem dizer‑lhe que a jorna era curta e o seu esforço merecia mais.
Os olhos não buscam os capatazes, nem o firmamento. Ficam cegos para tudo o que não seja ganhar a ceia.
Os trovões ribombam sempre. Os relâmpagos douram a escuridão que se apossou da Lezíria: envolve os aposentos e os palheiros de uma gaze triste. ‑Isto não pára, ó Manei!
‑ Deixe ver, seu Francisco.
‑ Está visto, homem; estou aqui que nem um pinto...
‑ Eles não ganham...
Aquela frase do capataz faz‑se sentença ‑ é a última palavra da mensagem. Eles queriam ceifar, ainda podiam,' precisavam, mas a chuva cai em torrente e em poça na res‑teva. As rãs calaram num momento o seu coaxar. O ar nãoi tapa as narinas, nem as bocas, e a angústia fica maior.
‑ Desferra! ‑ grita a voz do Francisco Descalço. Os ceifeiros não a ouvem ‑ não a querem ouvir.
‑ É desferrar, gente! ‑ insiste outro capataz.
O Francisco Descalço olha o relógio e marca as horas para descontar no sábado ‑ dois quartéis!
‑ Eh, gente!... Dois quartéis!
E lá vão pelas travessas e linhas, de corpo abatido mais pelo desalento que pelo cansaço, a repetir a sentença:
‑ Dois quartéis! Se isto continua assim, é melhor abalar. As foices bamboleiam nas mãos desalentadas. A chuva a
tamborilar no arrozal casquina dos ceifeiros. Alguns corrempelo carril a procurar refúgio no telheiro de zinco; outros vão a passo, como se a não sentissem. Deixaram de ceifar e nada os aquebranta mais ‑ nem a chuva, nem as sezões, num o torpor da labuta.
‑ Raio de chuva!
‑ Vida de cão!...
‑ Nem os cães vadios...
E ficam a olhar a Lezíria, com a tortura estampada nos rostos molhados; os braços caídos ao longo do corpo a tiritar parecem feitos com o pano da roupa. Os rabezanos esgueiram‑se para a mota dos bois, em busca da fogueira acesa; querem evitar que o vestuário enxugue no corpo.
Eles, porém, não podem ir para a mota, porque os maiorais não querem lá gaibéus. Eles vêm lá de cima tirar o trabalho aos outros rabezanos que andam a vadiar pelas ruas e a espairecer nas tabernas. Poucos são ainda os que conseguem jorna nos cais e nas fábricas.
Por isso os rabezanos olham os gaibéus como inimigos. Por isso os maiores não os deixam aquecer ao fogacho que crepita na mota.
Os três rapazes juntam‑se, acocorados ao monte das maçarocas, por descamisar, e sentem‑se marcados com um nove. Todos os gaibéus têm aquele ferrete gravado no dorso.
‑ Nove!... Quem padece é o pobre.
‑ O Malpronto!
‑ Ha!...
‑ Ainda se o Forneças deitasse aí.
‑ Se o Marrafa quisesse...
Todos marcados com o nove. A chuva tamborila no zinco do telheiro e repete o anátema ‑ os rapazes não sabem se a lamentar-se a rir.
‑ Isto são mais uns pingos e passa.
‑ Passa nada. A desgraça não passa, fica sempre.
‑ Mais dois furos no cinto.
‑ Barriga mirrada...
Os três rapazes ficam a ouvir as queixas dos homens e das mulheres.
Eles não têm borralho, mas foram a outra noite aos melões e a ceia está certa.
‑ Ainda se o Forneças deitasse aí ‑ lembra um deles. As mulheres foram vestir outras blusas e alguns homens
já mudaram de camisa. Mas quase todos não têm outra para substituir a que o suor e a chuva ensoparam. E tiritam, como se as sezões se albergassem nos seus corpos afadigados.
Os cigarros lucilam para entreter mágoas. Nos ouvidos e nas almas atroam as descargas do temporal.
No Norte deslocam‑se serras de nuvens que se acavalam e fundem, para depois se desenlearem lentamente na sua marcha sobre a Lezíria. Os ceifeiros queriam repudiá‑las com a vista, atirá‑las para longe, porque talvez a chuva cessasse e o desconto não iria a mais de uma hora.
Mas a chuva persiste sempre e espelha os barracões nas poças que encheu pelo caminho.
O tom metálico das oliveiras fica mais suave, os longes são mais cinzentos e o arrozal não tem cromos brilhantes, nem verdes indecisos. Tudo se torna triste como os alugados.
Estagnaram no seu desalento a olhar a chuva e os cinzentos dos montes de além, onde os moinhos bradam, de braços nus, ao céu.
‑ Tudo parou.
‑ É como se toda a gente tivesse as mãos lázaras.
O ceifeiro olha as mãos marcadas pelos calos e vermelhas pelo contacto da foice e das espigas.
‑ Para que serve isto?!... Chove e não se come. ‑‑Como se fosse a gente que fizesse a chuva.
‑ Como se fosse a gente que fizesse as sezões...
Ficam‑se a ouvir o eco daquelas palavras, que ressoam nas cabeças.
A Rosa olha‑os da janela do aposento do patrão e vê‑os abatidos como mendigos, tiritando nas roupas encharcadas. Lá estão as companheiras sentando‑se pelo chão, de mãos espalmadas nas faces ou embalando os filhos. Ela gostaria de sentir também o corpo a enregelar e ter a dúvida do fim da semana.
A Maria Gadanha viera mostrar‑lhe os companheiros e dizer que tivera sorte em cair nas graças do patrão. Aquelas palavras afastaram‑na dos outros. Tinha‑os ali a dois passos, mas ficava longe.
Já era talvez a Balbina da Rua Pedro Dias, a chamar os homens que olhavam a chuva e os montes do Norte. Eles não vinham porque não ceifavam e o temporal não trazia dinheiro.
E recolheu‑se, não fossem vê‑la; ficou à espreita pela frincha das portas de dentro, a invejar os outros que tremelicavam de frio e não ganhavam dois quartéis.
‑ É uma raça de dinheiro, o que a gente ganha... ‑ dizia um dos ceifeiros.
‑ É dinheiro macho, homem!...
‑ Não dá de parir nem que o matem, o alma danada.
‑ Há outro mais paridor que coelhas: deita criação todos os dias.
‑ Nunca ganhei desse! Em toda a vida nunca desse me passou pela mão.
‑ Dinheiro fêmea não calha à gente... Nem que te mordas!
Um chocalhar começou a ouvir‑se e a aproximar‑se. Os três rapazes ergueram‑se e foram espreitar a Lezíria.
‑ É o Forneças, ó Nove!...
Lembraram‑se novamente de que todos os alugados tinham a marca daquele número que não sabiam escrever. Mas devia assemelhar‑se a uma ferradura.
‑ É o Forneças, é!
Trazia a camisa e as calças agarradas ao corpo; e o barrete a pingar‑lhe no rosto todo encamarinhado pela chuva. Vinha em osso, agarrado a uma cobra feita de crina e rabo, que servia de cabeçada à égua.
O gado vinha num trote largo, maquiado pela chuva e pelos brados do guardador.
‑ O quiá, Romeira!... Judia, óóó!...
O cacete que empunhava na canhota revolteava no ar, zunindo.
‑ Fora Bem‑Feita!...
‑ Oi!... Oi!... Eh, Garrafa.....
O chocalhar acordou os ceifeiros da letargia do pensamento. Distraídos, por momentos, os olhos acompanharam a manada pelo carril fora.
Os três gaibéus deitaram a correr para esperá‑lo à porta da mota, pois o Marrafa e o Cadete não deviam tardar, se ainda lá não estivessem. Só o Passarinho não viria, porque se albergara da chuva na palhota do arrozeiro. Mas também pensava neles, com certeza. Tinham sido todos bons camaradas.
Aproveitariam para enxugar o resto da roupa, aprenderiam depois coisas novas e talvez se atirassem de parceria a um melão ou dois.
Sempre a chover.
Ficavam‑lhes os olhos cansados de a ver cair e de a querer decifrar. Os chocalhos calaram‑se e só a chuva quebrava o silêncio, a matraquear no zinco e na leiva. A desolação dos campos era um grito de garridice ante a desolação das suas almas.
‑ Está escrito, Ti João.
‑ Nem mais uma espiga abaixo.
‑ O dia está ganho.
‑ Bem ganho!...
E meneavam a cabeça.
‑ Servos de dois patrões: do Agostinho Serra e do tempo.
‑ Se um dá de dizer: mata...
‑ O outro não falha, diz: esfola.
‑ E a gente cala o bico, que com o tempo não se pode...
‑ E com o Agostinho Serra não se rezinga.
‑ Vida ruim, a nossa...
‑ Vida de enjeitado, Ti João.
‑ Se dá de fazer sol, é aguentá‑lo e graças... Se chove... é isto.
‑ Nem lá no céu estão pela gente... E os cá de baixo...
‑ Fazem o mesmo. Bem curam eles em saber da nossa vida.
‑ Cada um tem a sua.
‑ Mas a nossa é bem danada! Ruim como a de um cão danado.
Muitos ficam arroteados pela descrença e somem‑se no barracão a procurar refúgio na esteira.
Os corpos precisam de repouso ‑ aquele descanso é bem mais padrasto do que o trabalho de sol a sol. Não há ali uma palavra de trégua ‑ um gesto de alento.
Só a chuva tem palavras que não as suas ‑ o que ela diz não anima ninguém.
A chuva lembra aos ceifeiros que a ceia não foi ganha. A ceifa parou ‑ e a ceifa é o pão.
Há choros de crianças, acompanhando a melopeia do temporal; todos gostariam que as crianças se calassem. Alguns sentem ganas de lhes tapar a boca, de as estrangular até. As mães embalam‑nas e cantam‑lhes baixo para as adormecer.
‑ Que raio de cachopos!...
‑ Fecha‑lhe a goela, mulher!
As mães não respondem. O brilho do seu olhar fulge num clarão e depois apaga‑se. Os seus pesares são dobrados, as suas dúvidas mais atrozes. A mancha negra, que alastrou por todo o céu, põe uma sombra nos rostos anémicos das crianças. E elas vêem aquela sombra como o prenúncio de uma vida negra ‑ mais negra que a dos alugados sem trabalho.
‑ Ó Francisco!...
Aquele brado volve‑lhes as cabeças. É o patrão que está à porta do seu aposento a chamar o capataz.
‑ Ó tu!... Chama aí o Ti Francisco.
Uma mulher voltou‑se para dentro do barracão e chamou. O capataz saiu apressado, a puxar as calças, e meteu‑se à chuva. Os dois desapareceram depois no limiar da porta.
Os alugados ficaram a pensar no Agostinho Serra e no Francisco Descalço.
‑ Senta‑te aí.
O capataz fazia rodar o chapéu nos dedos nervosos e sacudia os ombros, num jeito de embaraço.
‑ Estou bem, patrão.
‑ Ó homem, senta‑te.
E voltando‑se para a outra casa, cuja porta ficara entreaberta :
‑ Ó Maria, manda cá um copo de vinho. Vais ver o que é uma pinga! ‑ disse para o capataz.
‑ Não se incomode, patrão.
‑ Não incomodas nada, homem!
‑ Que me dizes a este tempo?!... Vai durar?...
‑ São arrufos da Lua. Isto passa.
‑ Parece‑te?!...
‑ Se as contas não me falham...
‑ Bom é que assim seja.
‑ O pessoal está desanimado. ‑ E a um gesto evasivo do patrão: ‑ É de azar, coitados. Mal tinham aquecido... Logo no primeiro dia...
‑ E se a chuva pega de raiz, que vai ser de mim?
‑ Não é grande coisa, não senhor. Os encargos são muitos. ‑Nem sabes da missa a metade: apanho uma castanha para mais de duzentos contos. Vocês nem sonham muitas vezes a que está sujeito quem tem lavoira.
‑ Mas esta pinga não veio mal, ande lá, patrão.
‑ Ainda é cedo para deitar foguetes.
‑ Aqueles bocados verdoengos bem precisam de mais água. Se não fossem estas pancadas, ficavam sem espiga capaz. Amanhã já o Sol manda que nem um rei e o arroz que está na resteva fica bom com três dias de bom tempo.
‑ Se correr como dizes... Mas não foi para isto que te chamei.
O capataz enlivideceu quando viu a rapariga trazer o vinho. Os olhares cruzaram‑se num relâmpago e ambos ficaram enleados. Ele traído pelos desejos que voltavam a assaltá‑lo; ela receosa de que os olhos do Francisco Descalço lhe trouxessem as censuras dos companheiros.
‑ Bebe‑lhe, homem. E que tal, ha?!...
O outro ficou a resmoer, como se estivesse a mastigar o vinho para sentir o paladar. Meteu de novo o copo à boca e levou‑o de um trago.
‑ Que tal?!...
‑ É um vinhão, sim senhor. Bem apaladado e com um gasoso...
‑ Deste não bebes tu pelas tabernas, ó Francisco!
‑ Não há dúvida. É um beijo.
Ouvia‑se a chuva bater nos vidros da janela e no telhado; os trovões troavam mais longe.
‑ Que grande molha.
‑ Para a noite limpa, patrão. Tantos contos eu tivesse como de estrelas vão brilhar ainda esta noite.
‑ Que fales verdade e ganhes esses contos todos.
Pausa. Ficaram ambos entregues aos seus pensamentos.
Lá de dentro chegava o ruído de água a cair num cântaro. O ruído foi diminuindo até se desfazer no tamborilar da chuva.
‑ Pois eu bem me tenho ralado com a falta de trabalho dos ranchos.
‑ É o diabo, é!
‑ Se eles quisessem um gancho...
‑ Eles querem tudo, patrão.
‑ Estou‑me a lembrar daquele milho que tenho para descamisar. Aquilo ficava feito e eles ganhavam. ‑ E mudando de tom: ‑ Mete‑me pena aquela gente.
‑ Os ganhos são curtos...
‑ É que não se lhes pode dar mais, homem. Tu sabes lá...
‑ Eu sei, patrão.
Silêncio de palavras. O capataz puxou do relógio e exclamou:
‑ Até ao sol‑posto ainda faziam quatro horas. Não era mau!
‑ Não... lá a horas... Não, isso não!... Tu compreendes... Eu faço isto mais por pena deles do que por outra coisa.
Novo silêncio.
‑ De empreitada?!...
‑ Pensei nisso. Que te parece?!...
Ele gostava de ouvir da boca dos capatazes a opinião para os seus projectos. Sabia‑as sempre favoráveis e o facto aquietava‑lhe a consciência.
O outro pensava que não era coisa de muita justiça, mas o patrão dava‑lhe tal confiança, como se falasse a um sócio, que ele devia puxar a sardinha àquela brasa.
‑ Antes isso que ver chover, patrão.
‑ É porque... tu compreendes... Eles assim não ganham nada, e descamisar é trabalho de rapazes. Não posso pagar jorna por tarefa de dar à língua.
O outro meneou a cabeça.
‑ Vai mais um copo? Bom, se queres... Que diabo! Se eu pagar a dois tostões cada cesto, parece‑me que é ter coração. Se lhe derem com vontade, eu sei lá quantos cestos podem fazer. Tiram mais que na ceifa; isso te digo eu.
‑ Talvez! O patrão que diz...
‑ Dois tostões!... Parece que me alarguei. Mas está feito!... Palavra vale palavra! Pergunta‑lhes se querem e : mãos à obra.
‑ Com sua licença.
O capataz ergueu‑se e tomou o rumo da porta. A chuva era mais branda, quase de morrinha ‑ chuva de molha‑tolos.
‑ Ouve lá: podes dizer‑lhes que pensava meter umas mulheres da vila, mas como eles cá estão e hoje não trabalham... E se lhe pegarem dou aquela empreitada para os serões. É uma ajuda!...
‑ Sim senhor, patrão.
‑ E no fim não me esqueço de ti.
Aquela promessa animou‑o. A chuva afagava‑lhe a cara, no seu salpicar miúdo, impelida por uma aragem que corria do suão.
Olhou o céu mais claro e pensou que os seus cálculos não o haviam enganado.
‑ Já se voltou, bem dizia eu. Amanhã há sol para assar um borrego.
Os alugados viram‑no chegar a passo ligeiro, limpando o rosto com o lenço de ramagens. Parou e ficou‑se a olhar à volta; depois saltitava de grupo em grupo.
Por fim, decidiu‑se.
‑ Eh, gente!... É vir aqui!...
Todos se levantaram prestos e foram rodeá‑lo. Os que dormitavam nas esteiras vinham de olhos piscos, esfregando com as costas das mãos; as mães traziam os filhos ao colo e embalavam‑nos ainda.
Ficou envolvido por uma Insua de cabeças que o interrogavam. As expressões dos da frente diziam dos anseios de todos.
‑ Há trabalho para quem quiser!... Falei ao patrão do desarranjo que isto fazia e ele atendeu‑me de bom modo.
Os rostos animaram‑se. As cabeças ergueram‑se.
‑ Há milho para escamisar...
E em voz pausada, como a recrear‑se na ansiedade que as suas palavras provocavam, foi dizendo aos outros as condições da tarefa e as graças que o patrão merecia.
A ínsua agitou‑se como o oceano. Algumas frases soltas que ele não ouvia cortavam a ladainha da sua voz pastosa e arrastada. O abegão já esperava com os criados para trazer a rata, meter a correia ao tractor e distribuir o serviço.
‑ Não se obriga ninguém. Dois tostões o cesto, a receber com a féria.
Num instante, toda a gente dispersou, como tocada de
vertigem.
Atropelavam‑se na carreira, bradando galhofas e rindo. Do barracão para o telheiro ia um vaivém constante de homens e mulheres que se acotovelavam a expressar alegria.
‑ Éh, Manel, isto é que é alma!
‑ Se te parece!...
As mães foram deitar os filhos nas esteiras, deixando‑os a choramingar. Da abegoaria saía uma fila de alugados com os cestos à cabeça ou na ilharga. O abegão e outro rabezano estendiam um panal para receber as maçarocas, pois o serviço não podia empatar‑se quando o descarolador não vencesse a azáfama do rancho.
Do monte, três homens puxavam a ancinho e a forquilha o milho encamisado, formando uma roda para facilitar o trabalho.
A chuva caía sempre, agora mais espessa de novo. Mas eles não ouviam nem viam a chuva. Tocava‑os a mesma alucinação. Nunca uma tarefa lhes trouxera trégua tamanha ao desalento.
Da janela do seu quarto, o patrão espiava‑os e sorria.
‑ Vá, homem!... Essas maçarocas abaixo ‑ recomendava o capataz.
Os ancinhos e as forquilhas passavam de mão em mão ‑ todos queriam começar depressa e os que se davam àquela faina não andavam tão prestos como os desejos dos outros. Com trancas, o descarolador era arrastado para o telheiro, ao jeito de começar a sua marcha, mal houvesse maçarocas para engolir.
Todos andavam prestos, como se de há muito estivessem parados. Os bicos já pendiam dos pulsos para os cordões e os que o não tinham faziam‑no a canivete, aproveitando pedaços de madeira abandonados por ali.
Só o ceifeiro rebelde se deixara ficar à porta do barracão, numa atitude de indiferença. O capataz já o vira, mas não o atazanara, porque não viera lá de cima no seu rancho.
«Se ele fosse patrão, não era uma cara daquelas que ali punha mão no trabalho. Sempre de má cara, sempre a falar consigo ‑ a falar com o Diabo.»
Da abegoaria, os cestos chegavam entre risotas e ditos.
‑ A dois tostões cada um sempre dá a conta.
Uma mulher cantou. De um grupo rebentaram gargalhadas altas.
‑ Este malvado tem cada uma!...
‑ Ó Francisco, conta aqui à Ana. Ela gosta dessas! ‑‑‑‑Anda cá, homem. Anda cá!...
O ceifeiro rebelde pensava que estavam a tirar o pão a eles próprios; se todos percebessem, nunca ninguém pegaria numa maçaroca. E o trabalho seria pago ao dia, porque a ceifar ou na descamisa as barrigas não achavam diferença. Aquilo tornava‑o mais sombrio que o temporal e a falta de jorna. Parecia‑lhe que os outros estavam tomados de loucura, de que aquele turbilhão de vozes e correrias, gargalhadas e cantos era o sintoma. Ele não podia compreender o ódio surdo dos rabezanos pelos gaibéus. Mas naquele momento sentia também por eles uma aversão instintiva. Aversão que logo depois se fazia lamento, lamento que era depois confiança. Ele confiava ainda naqueles irmãos que tiravam o pão a eles próprios.
Doía‑lhe a alma, mas uma esperança iluminava‑o.
Os outros olhavam‑no pensando que aquele ceifeiro maltês não se dava bem com o trabalho e pertencia à raça dos que só pegam na foice quando a fome aperta.
Sentiu‑se mal ali. Não era rabezano nem gaibéu. Andava de terra para terra, de profissão em profissão, arrastando consigo um sonho e a desgraça. Não tinha ali amigos, nem ambições próprias ‑ guardava um sonho para todos. No seu sonho, todos os homens cabiam ‑ rabezanos, gaibéus e vagabundos.
Já muitos se haviam sentado à volta da roda e as mãos, de novo encontradas, azafamavam‑se a separar as brácteas da pinha de milho. Não procuravam o milho‑rei, como nas desfolhadas lá da terra, para correrem a roda, entre palmas e ditos, a beijocarem‑se. Estavam prestos de mãos, porque cada cesto valia dois tostões e a ceifa parara com a chuva. Os bicos desventravam a palha e as maçarocas iam reluzindo doiradas.
Como se sentisse mal a vê‑los naquele frenesi, o ceifeiro rebelde desapareceu nas sombras do barracão. Abriu a esteira e deitou‑se. O ruído da palha e das maçarocas a cair nos cestos chegava‑lhe brando. E pensou neles.
Neles, nos rabezanos e nos vagabundos. Em Ti Maria do Rosário, já esquecida na esteira.
Depois o barulho do trabalho abafou tudo e ficou só com as suas angústias e as suas esperanças.
Os risos tinham cessado. As maçarocas, a rolarem por sobre outras, pareciam gargalhar. A voz de uma mulher que cantava arrastava as mãos num ritmo trepidante.
Mas os cestos ainda se não tinham enchido, a dois tostões cada um. Se o ceifeiro rebelde lhes dissesse da sua aversão, aversão depois lamento e logo confiança, saberiam compreendê‑lo.
Deitavam os olhos pelas abas do cesto e ainda não ia em meio.
‑ Fundos como poços, estes danados!
‑ Mais fundos que tu, ó Mariana.
As mãos não param ‑ querem vencer os cestos e os dois tostões.
Os três rapazes trabalham para o monte e vão pondo de lado as barbas de milho. O Marrafa, o Cadete, o Forneças e o Passarinho hão‑de regalar‑se com um cigarro daqueles. Os outros não dão tréguas aos bicos.
O tractor está afinado e agora vá de aproveitar o descarolador, que a tarefa para eles não demora. Metem‑no ao ralenti e pelo tubo de descarga saem argolas de fumo que sobem, agitam‑se e desfazem‑se no telheiro, onde a chuva ainda tamborila.
Os trovões calaram‑se; os relâmpagos não se acendem.
Não dão por isso os alugados. Agora só vêem os cestos e as maçarocas.
Os capatazes vão chefiando o rancho, a conversar. Não bradam, porque o trabalho é de empreitada e ali não há que puxar ao patrão.
‑ Já está um.
A mulher que o disse levantou‑se e arrastou o cesto com o companheiro. Os outros ergueram os olhos e deram mais azáfama aos bicos.
‑ Vai outro, ó seu Francisco!...
Um rapagão alto e loiro, de barrete negro na cabeça, vem receber os cestos e deita as maçarocas no descarolador. À volta anda um turbilhão de felpa; o milho vai cantando na calha de saída.
‑ Já cá vai o meu, ó seu Francisco!
O capataz assenta num papel, molhando a ponta do lápis na língua.
Dois tostões cada cesto ‑ dois a trabalhar meia hora.
Se o ceifeiro rebelde lhes contasse porque estava sombrio, eles saberiam compreendê‑lo agora.
As mãos não se ficam, que remédio! Vaivém de cestos vazios e cheios. O descarolador a tragar as maçarocas e a deitar milho a um lado e carolos a outro. O turbilhão de felpa é neve a cair na camisa e no barrete do rapaz loiro e do Abegão.
- Um a mim... Vai um meu!
A empreitada não dá a ceia. ‑ Ceia de água com massa cortada de feijões. A mulher já não canta ‑ só o ruído do tractor e da rata ali mandam.
‑ Cada cesto dois tostões !‑ repete o Francisco Descalço para uma mulher que lhe pergunta.
PORTO DE TODO O MUNDO
Naquela noite, na praia de areia fina, onde os avieiros pelo Inverno vêm puxar as redes, só se ouvia o marulhar brando do Tejo a acariciá‑la.
Estava noite de luar. Um luar brando de Outono que vestia as coisas de penumbra triste. Piscavam luzes na outra margem, dispersas aqui e além, mais ali reunidas, como num concílio de estrelas. Eram constelações de vidas, todas iguais vistas de longe.
A luz que iluminava o senhor não brilhava mais do que a outra que alumiava o servo. Ali não havia casebres, nem palácios. Todas eram irmãs, como ar; estrelas da Estrada de Santiago que polvilhavam de oiro o azul‑negro.
Dali os seus anseios partiam para longas viagens, embalados pela dolência das marés, com velas enfunadas pelo sopro da imaginação de cada qual. Até ele vinha o passado, qual história estranha dita pelo Tejo, numa voz meiga e doce. E o passado era triste ‑ mais triste que o badalar de um chocalho vindo de longe.
Ambições naufragadas, restos de alegrias e desditas, de que tinha vaga recordação. O presente era amargo, tão doloroso como o passado.
Mas ali, naquele silêncio, guardava sonhos de criança, como se nunca tivesse entrado na vida e ainda a julgasse uma floresta de frutos de oiro.
Era ali, sentado na praia, de corpo alquebrado pelas soalheiras e pelo trabalho, que vinha fazer a sua viagem de promissão. Na dolência vaga da noite acompanhava‑o, às vezes, o trapejar de velas no virar dos bordos.
E ficava‑se a olhar as fragatas, embarcando nelas os seus anseios sempre jovens.
A carreira daqueles barcos era curta e não chegava ao mar. Descarregavam em qualquer porto das margens e voltavam de novo, rio acima, em viagem decorada. E todos os dias e todas as noites, enquanto houvesse fretes, até o tempo lhes consumir as carcaças e serem vendidos para encalhar nos valados.
Barcos irmãos da sua vida de alugado.
Também já andara por esse mundo, embarcado como mercadoria. Encontrara homens de outras raças, raças que afinal eram Irmãs da sua. Nunca julgara isso. Sabia agora que o Agostinho Serra pertencia a outra raça e que a sua era a mesma dos negros descarregadores dos molhes dos portos por onde andara. Irmão dos negros que colhiam café e pilavam milho, por essas terras distantes de oiro e febres.
Fora e voltara ‑ sempre passageiro de terceira.
Estava agora ali, trabalharia amanhã no fundo de uma mina a viver em trevas ‑ a sua vida assemelhava‑se a uma mina em trevas. Mas caminhava nela e tinha anseios, porque sabia haver lá em cima outra vida com luz e ar. Vivia na sub‑humanidade ‑ morava na cave de um prédio de muitos andares, onde, nos altos, havia lugar para ele e para os companheiros.
O canavial, ali perto, falou à noite. E a noite não lhe respondeu. Só as águas do Tejo contavam histórias estranhas de dramas seus.
Vinha aí a maré alta. Ele desconhecia ainda que a vida dos homens é um rio com marés, um rio com fluxos e refluxos que um dia o havia de trazer para a luz. E as águas não se aquietariam nunca, porque então não seriam de rio, mas de charco. A vida nunca é charco. Rio aparentemente igual e sempre diferente.
Cruzou as mãos por detrás da nuca e assim ficou longo tempO, estendido no areal.
Os rapazes não tinham vindo naquela noite. Não se ouviam os seus brados, nem as suas gargalhadas. Quando eles estavam, via‑se moço também. E parecia‑lhe que andava com eles a correr e a saltar, esquecido de tudo. Ria‑se dos seus ditos, seguia‑lhes as brincadeiras.
Mas noites havia de tristeza mais funda. Então, não ficava a esquecer‑se de si. Seguia pelo carril do valado e andava sem destino. Ora a passo lento, ora em marcha leve. Os pensamentos acompanhavam‑no de mãos dadas.
Aquela era uma dessas noites. Os rapazes tinham procurado outro rumo e pudera ficar só. Silêncio e ele.
E ambos falavam como se se entendessem, como amigos velhos encontrados ao fim de caminhar diferente. O silêncio dizia‑lhe palavras que mais ninguém lhe poderia dizer naquela emposta. Falava pelos homens que ainda se não haviam encontrado.
Estavam ali, lado a lado, confessando anseios e desditas, sem erguer a voz. As palavras pareciam rezadas, não fosse alguém traí‑las. A noite escutava‑os, mas sabia calar os segredos do ceifeiro e do silêncio. Nem as luzes da outra margem, nem as estrelas, conheciam a conversa que ciciavam ao ouvido um do outro.
Dois vultos saíram da negridão e vinham pelo valado. O ceifeiro não os viu, nem ouviu ‑ continuava entregue ao futuro e, embora o seu companheiro se calasse, ficou, como um louco, a falar sozinho. Quando voltou a si, os vultos já estavam sentados na areia; o lume de um cigarro brilhava na praia. Tinham as cabeças voltadas para ele e viu‑lhes os olhos vivos e iluminados de interrogações. Talvez alucinação, mas bem os sentia penetrarem‑lhe o cérebro, agora inundado pela sua presença.
Voltou‑se para o outro lado, mas aqueles olhares vogavam no Tejo, como a tremulina da luz do luar, mas lucilavam mais, porque eram interrogadores. E subiram depois pela noite, piscando na outra margem; aqui, isolados num casal, mais adiante, na mancha dos luzeiros de lugarejos e vilas.
Sentiu vontade de se erguer e tomar o carril, caminhando sem destino, como quando os rapazes vinham e precisava isolar‑se. Mas chegara primeiro e o corpo pedia‑lhe repouso. Cerrou os olhos e o olhar dos outros brilhou mais dentro do seu.
Se não havia onde fainar ou nas horas de comer, os dois encontravam sempre motivo de conversa ‑ diálogo igual, mas novo a cada hora. Sabiam de cor os projectos de há tanto sonhados. Trabalhavam na mira de os realizar ‑ talvez no ano próximo. Tiravam à barriga o escasso que ganhavam, porque só assim poderiam partir.
Aquela ideia avassalara‑os, dominando‑lhes a vida. Andavam sempre juntos, como se o sonho estivesse dividido pelos dois e só assim pudesse ser repetido.
Devoravam as horas a falar dele, antevendo ambientes que o João da Loja lhes criara quando contava, aos serões, as suas aventuras por outras terras. Aquele homem, de quem se diziam os maiores crimes, tornara‑se no alvo dos seus desígnios e na rota do seu futuro. Os dois companheiros punham‑se sempre mais perto a escutá‑lo; de quando em quando, trocavam olhares entre si, porque o sonho era de ambos e o desejo de abalar dominava‑os a todo o momento.
Aqui nunca mais passariam da mesma piolheira. Trabalhar de dia para comer de noite... e mal. Condenados a uma pena, terem porta por onde se via a liberdade e ficarem entre grades à espera da morte.
‑ Isso é que não!... ‑concordavam ambos. Não queriam fortuna ‑ se viesse, melhor ‑, mas granjear trabalho, pão certo e alguma coisa para a velhice; quando os anos pesam, não há patrão que conheça o servo.
Naquela noite, tinham vindo até à praia, trocando vagas palavras, mais pensativos do que palradores. As quatro paredes lá da terra não as podiam vender, pois as mães precisavam de telha; também eles quando regressassem encontrariam abrigo. Já ia em cinco anos que aquela ideia os tomara: desde então, nunca se desprendera deles.
Agora tornara‑se parte integrante do seu corpo ‑ como se aquele rumo lhes fosse marcado no berço por fatalismo. Nunca lhes dera para se prenderem a um rancho e virem à Lezíria fazer uma temporada larga. Os outros voltavam mirradinhos de febres, a caminho da botica ou do bruxo, e aquela marca nunca mais passava.
Eles esgaravatavam por todos os lados e sempre conseguiam fugir a tais contratos. Neste ano tudo correra pior e não podiam ficar de braços cruzados, metendo a mão no saco das economias para tirar, em vez de lhe juntarem alguns cobres, mesmo poucos.
Suplício constante, aquela miragem de partir ‑ suplício e esperança das horas amargas.
O rio fora‑os atraindo como a estrada da sua evasão. Tinham caminhado para ali, sem o ouvir, mas sentindo‑o chamar. Ficavam agora a dois passos da sua carreira, como se em breve fundeasse o barco que os levaria para as terras do João da Loja.
Ali era o cais de embarque e mais outro companheiro esperava também o momento de abalar. Não tinham malas, nem sacos. Mas partiriam com os anseios, e isso bastava aos emigrantes.
As estrelas no céu prometiam‑lhes boa viagem. E interrogavam‑se, mudos.
Reviam todo o sonho acalentado durante cinco anos. Imaginavam as cidades e os campos da nova pátria, onde iriam trabalhar ‑ trabalhar em quê?...
Em tudo o que braços humanos pudessem pegar. Não havia melindres na escolha, nem hesitações. Começariam outra vida, mais dura talvez, mas mãe. Sorria‑lhes a casa onde à noite voltavam, felizes da jorna, embora quebrados de fadigas. E os carinhos das companheiras, mulheres estranhas que os seduziam, acalentavam‑lhes o corpo e davam‑lhes ímpetos para lutar. O trabalho não os arrefentava ‑ nunca se tinham furtado a dar o seu esforço.
Contudo, queriam pão certo ‑ queriam ser homens. Tudo se vestia de cores novas para os receber e acarinhar: as cidades e os campos, as casas entre flores e as companheiras.
Vida de trabalho, sim, mas vida de homem.
Falta pouco para embarcar, o navio não tarda. Não lho disseram; eles porém adivinhavam‑no, pois o rio agita mansamente as águas para embalar o barco.
O companheiro que espera ainda não deu palavra e parece triste. Talvez pense na mulher e nos filhos. Razão tiveram eles para nunca se comprometerem. Depois, sim, quando voltassem...
Se o outro ceifeiro não estivesse para ali tão alheado, iriam perguntar‑lhe quais as razões do seu acabrunhamento. Emprestariam ainda a sua fé àquele companheiro abatido e silencioso.
‑ Eh, camarada!... ‑ disse um deles.
O outro não se moveu. Olharam‑se e ficaram a ouvir os seus sonhos.
‑ Camarada!... ‑ gritou mais alto.
O brado encheu a noite. O ceifeiro rebelde continuou estendido na areia; por fim voltou a cabeça, contrariado.
‑ Vossemecê sabe onde vai ter esta água"!
A resposta tardou. Quando veio, a voz soou‑lhes frouxa ou dorida.
‑ Vai por aí abaixo...
Logo se esqueceu de que o tinham interrogado. Os rapazes não vieram ainda jogar ao «primeiro da bela mula» e prefere ficar só. Porque viriam aqueles dois companheiros despertá‑lo agora? Não lhe agradava moer o tempo em conversas para entreter. Falariam do trabalho e de mulheres, das suas terras e dos seus amigos. Conversas de quem nada tem para dizer e procura palavras fiadas.
‑ O camarada parece que anda a modos doente... Silêncio.
Um deles chegou‑se mais ao ceifeiro rebelde, quase a
tocar‑lhe:
‑ Alguma sezãozita por aí a minar...
‑ Na!...
A cara do gaibéu agradou‑lhe. Era magra e o olhar não
o feria.
E continuou, erguendo o busto e fixando‑se nos cotovelos:
‑ Já tenho o coirão curtido.
‑ Dos anos daqui!...
‑ Pois! Agora... só alguma para cavalo é que cá entra.
‑ Ah!... vossemecê é cá do sítio?
‑ Não fui parido na borda de nenhuma aberta, ande lá. Sou daqui perto, nem quase me lembro donde. De Aldeia
Galega!...
‑ Não conheço ‑ interrompeu o outro gaibéu.
‑ É para riba?... ‑ interrogou o outro.
‑ Na!...
E indicou para o sul num movimento de cabeça.
‑ Fica ali no mar da Palha.
Os gaibéus quedaram‑se contrafeitos, sem perceber e sem perguntar. E volveram os olhos para aquele lado. Um deles inclinou‑se para trás, apoiando‑se também aos cotovelos.
‑ Vossemecê sabe onde é que isto vai ter?... E apontou o rio, a cobrir a praia aos poucos.
‑ Isso nem se sabe, homem.
‑ Ao fim do mundo...
‑ E o mundo é grande...
‑ Longe?!...
Estavam no porto à espera do barco que os levaria na viagem para a liberdade. Só sabiam que iam partir com mais um companheiro. Assim seria melhor, pois nascera ali perto e podia dizer‑lhes tudo o que ansiavam conhecer.
‑ Ao fim do mundo ‑ respondeu o ceifeiro rebelde.
Os gaibéus entreolharam‑se confusos. Não se haviam enganado, ainda bem. Daquela praia poderiam abalar para as terras de além, donde o João da Loja voltara rico.
‑ Contou‑me um marinheiro quando embarquei. Esta água Vem vai a Lisboa e depois mar fora. E os mares são muitos e é só um.
Os dois nunca tinham ouvido falar naquele jeito.
Fez‑se silêncio. Cada um ficou entregue aos seus pensamentos. O ceifeiro rebelde lembrava‑se do marinheiro que lhe dissera dos mares e dos homens do fogo. O marinheiro falara‑lhe dos passageiros de primeira e dos de terceira e de muitas coisas da vida que ele não vira ainda ‑ vendo‑as todos os dias. Os anos passaram e o marinheiro esquecera. Só a sua camisola azul com fateixa vermelha bordada e as suas palavras se lhe tinham gravado para sempre. Desde então, todos os embarcadiços eram irmãos do marinheiro que lhe falara dos mares.
E amava‑os.
‑ Todo o'mundo...
‑ É grande e pequeno. Já andei por ele dentro e nem sei bem. Às vezes, parece‑me grande ‑ maior que o Inverno. Noutras não passa de um palmo mal medido.
Aquele companheiro andara por terras distantes e bem o tinha marcado na cara. Conhecia‑se logo que era homem diferente deles e até dos rabezanos. Sempre metido consigo... E sabia belas coisas do mar e dos marinheiros.
‑ Foi às Áfricas?!...
O outro afirmou com a cabeça. E pareceu‑lhes que ficara triste.
‑ Às Áfricas e ao Brasil.
Ficou então com vontade de lhes contar tudo. Saberia dizer‑lhes coisas novas sobre a rota do seu sonho.
‑ Eu e mais este andamos com vontade de lá deitar. Aquilo deve ser outra coisa... Outra gente...
O silêncio do ceifeiro rebelde fê‑lo calar. Mas a emoção que lhe embargava a voz e lhe agitava o corpo pôde mais do que o enleio.
‑ Há cinco anos que andamos com esta ferrada. E isto vai!... Trabalhamos para estoirar, até de noite, se preciso for...
Comunicado pelo mesmo deslumbramento, o gaibéu mais atarracado prosseguiu:
‑ O cinto aperta‑se nos furos que forem precisos. Mas ganhar a cinco e a seis toda a vida, não, não pode ser.
‑ Não é lá grande coisa, não!
Esperavam mais palavras do outro. O que dissera não passava de um lamento e eles desejavam que lhes falassem das cidades e dos campos, das mulheres e das casas rodeadas de flores.
A noite parecia ainda mais serena. As estrelas no céu prometiam‑lhes boa viagem. O rio subia mais e temia‑se de vir até ali.
‑ Aquilo é outra coisa, camarada...
Diziam as palavras que gostariam de ouvir ao outro. Mas ele ficara mudo e parecia‑lhes mais triste.
‑ Terras de trabalho, está certo. Também um homem, ao menos, tem côdea e amealha alguma coisita.
O outro continuava abstracto.
‑ Pouco, é claro!...‑emendou, vencido pelo silêncio do companheiro, que não repetia as histórias do João da Loja.
‑ Pouco... ou nada ‑ respondeu por fim. A sua voz parecia magoada.
‑ O camarada está de brincadeira, pela certa ‑ retorquiu um deles, de sorriso forçado, pondo‑lhe a mão no ombro.
‑ Antes estivesse... Antes estivesse!... Também já fui como vossemecês. Pensei das Áfricas e do Brasil um pão mais farto. Trabalhei para amealhar, roubando à barriga e aos braços. E parti... E tudo me saiu África... mas de condenado.
Agora só a sua voz se ouvia na praia.
‑ No barco tudo me parecia um sonho. Iam comigo condenados e eu não sabia ainda que era condenado também.
‑ Condenados?...
‑ Ladrões e assassinos. Gente que depois por lá encontrei marcada com números e letras. Metiam‑me medo e todos se afastavam deles quando saíam do porão. Mais tarde, quase senti inveja. Eu não reparara que ia na terceira e a bordo havia mais classes. Mas em nenhuma viajava tanta esperança como naquela. A todos parecia que a desgraça ficara no cais com os outros que não embarcaram. Vida nova!... Ali não entrava a tristeza. Nem os condenados iam tristes...
Os rapazes, se ali estivessem, perguntariam novas do pai do Cadete. Ele também lá fora como ladrão e era bom. E olhariam aquele ceifeiro com olhos diferentes dos gaibéus.
‑ Andei por lá à cata de trabalho... e nada. Pedi para descarregador e julgaram‑me doido. «Você é branco, homem. Descarga é serviço de negro.» Eu era branco e não podia trabalhar no cais. O homem que me falou assim voltou‑se para outro e disse‑lhe em voz alta, com modos de zangado: «Isto devia ser proibido. É por isso que os negros já não têm respeito à gente.» E falou em prestígio... ou coisa assim parecida. Vossemecês sabem o que isso é?!...
‑ Na! Nunca ouvi falar...
‑ Pois disse aquilo muita vez e deu‑me dinheiro. Andei assim uns dias, até que um tal Santos & Pinto me arranjou para o mato, para capataz de pretos. Vida má, a de preto!
‑ O Sr. João da Loja, um homem lá da nossa terra e que se governou bem pelas Áfricas, ri‑se sempre quando fala dos pretos. Diz que preto é burro.
‑ E é mesmo. E burro que não dá coices, nem é teimoso. Aquilo não me servia. Algum dinheiro que sobejava fui deixando ficar na conta. Quando julguei que chegava para a passagem e para farpela mais limpa, despedi‑me. «Que ficasse, pois qualquer dia me dariam mais alguma coisa, quando apanhassem o café.» Aquilo não me grudava.
‑ Fez mal...
‑ Nem mal, nem bem.
‑ O Sr. João da Loja assim é que chegou a sócio do patrão.
‑ Eu só podia ser sócio de negro. Fizeram‑me umas contas que não percebi e fiquei mais seis meses. E lá vim.
‑ Fez mal.
‑ E reparei então que a terceira era a classe onde viajava melhor esperança. E reparei que havia outra que era a segunda. E ainda outra, a primeira.
Lembrou‑se, de novo, da camisola azul de fateixa vermelha e das palavras do marinheiro. Os outros não o olhavam já, nem o ouviam. Ouviam‑se a si próprios. No céu, umas estrelas desejavam boa viagem e outras estavam abatidas, como o' companheiro que lhes falara das Áfricas e do Brasil.
Nunca tivessem vindo à praia para ver o rio que corria para o mar ‑ para todos os mares do mundo. Agora, dentro deles, a ânsia de partir fizera‑se mais débil. Antes daquele encontro tinham de um lado a incerteza do trabalho e do pão
e do outro as terras de além, com cidades e campos férteis, mulheres bonitas e casas rodeadas de flores.
Tudo agora se tornava incerteza, porque as cidades imaginadas tinham desaparecido com o vendaval e as casas eram gémeas das que as mães habitavam. Mas logo, mais poderoso, o sonho voltava e as palavras do companheiro ficavam sem sentido. O João da Loja fizera um arranjinho e quantos outros?... Eles não exigiam fortuna, com mil diabos! Trabalho certo, pão mais basto e alguma coisa para a velhice. E lá porque aquele voltara como fora, não ia daí dizer‑se que para todos a vida seria igual.
‑ Brasil e Áfricas... Disse‑me o marinheiro. A África e o Brasil estão com a gente. Todo o mundo pode ser África e Brasil.
Estendeu‑se na areia e abriu os braços, cerrando os olhos. Ficou a ver o passado e a pensar no futuro. Ele já não depunha as suas ambições em terras de longe. O futuro vivia dentro dele e dos outros homens.
Os dois gaibéus queriam agora partir, agora mesmo, se fosse possível. Aquele companheiro era louco, não dizia coisa com coisa. Dali não se podia ir por aquele rio para toda a parte do mundo, nem as Áfricas e o Brasil estavam dentro dos homens. Bem tolos foram em escutar aquela história de louco, julgando que lhe diria as mesmas coisas do João da Loja.
As estrelas acenavam‑lhes boa viagem. O barco não tardaria, mas não passava à praia, donde viam as luzes da outra margem. Um ano mais e a vida começaria então. Aquilo assim não era viver.
Vida nova em terras novas.
E ergueram‑se. O outro ceifeiro continuava estendido na areia, de olhos cerrados, e não os sentiu partir. Não respondeu, pelo menos, à saudação que lhe dirigiram.
Caminhavam lado a lado, silenciosos, pensando no seu sonho ‑ o sonho pertencia‑lhes.
E riram quando um deles lembrou as palavras do companheiro louco:
‑ As Áfricas e o Brasil estão com a gente. Todo o mundo pode ser África e Brasil.
As suas gargalhadas ecoaram na noite.
MALÁRIA
‑ Essas cobras, depressa!... Eh, rapaz!
O arrozal está quase dizimado e a vista só tropeça nas tabugas e nos bunhos, nos almeirões e nos burços, que escaparam ao recalque dos pés, pelas linhas e travessas. As canas que ficaram na resteva são curtas e confundem‑se com a gleba, a que emprestam o seu amarelo cansado. Só ao longe as pinceladas de oiro dos canteiros das pontas lembram a cheia de sol que assolapara a lezíria, e a debulhadora, lá em baixo, na eira, já devorou.
Em canteiros dispersos, braçados de espigas tostam‑se ao calor, à espera do feixeiro que vem na carreta, pelo carril acima, sentado na mesa, bamboleando as pernas, enquanto o carreiro fustiga os bois, mansarrões e fortes, com o bico do aguilhão.
Andam gafanhotos no espaço, de mistura com as nuvens de poeira e os mosquitos que zunem nos ouvidos e nas almas. Projectados nas fímbrias vermelhas que trilham o céu, nuvens de estorninhos sobem das copas das oliveiras e voltam a cair em cachos, enrolando‑se, na defesa das garras do milhano matreiro que espreita guloso, lá de cima, pairando.
Um ceifeiro põe os olhos no firmamento e diz para o companheiro :
‑ Céus vermelhentos... ou chuvas ou ventos.
‑ Bem importa agora. Isto está no resto, e mais valia que não tivesse começado. Safra desgraçada!...
‑ Bem desgraçada!...
Os capatazes deram ordem para largar a ceifa e irem enrolheirar as gavelas estendidas na resteva há dois dias. O sol comeu‑lhes o resto do viço e puseram‑se a jeito de levar a última seca antes do caminho do fraseal.
As foices descansam nos ombros ou nos cintos e as cobras desfazem‑se aos puxões das mãos, alegres por mudarem de faina. Ao silêncio da ceifa sucede a gargalhada do emolhar. Há gracejos e risos, cantigas e brados.
Esquecem‑se os que ficaram na poisada, a tiritar sezões, e o quebramento sentido nos corpos pela passagem das danadas. Ninguém escapou naquela colheita.
‑ Safra ruim!...
Formam‑se grupos nos canteiros das gavelas secas, indo e vindo na direcção dos que fazem os rolheiros. Os baraços estendem‑se no chão, como répteis mortos; sobre eles as paveias vão‑se amontoando, trazidas, a passo leve, pelos alugados. Quando o rolheiro fica grande, metem‑lhe o joelho e puxam o baraço, cingindo bem os caules pelo meio. O molho mantém‑se de pé na resteva, de espigas para cima, tombadas pelo peso dos grãos.
E outro aqui, e mais outro além.
Algumas vão aconchegando as gavelas nos braços e passam‑lhes depois o baraço para enrolheirar. Trocam ditos, empurram‑se à socapa e riem a espaços. Parece que as suas gargalhadas não irrompem francas ‑ têm o desejo oculto de esconder pesares.
‑ Oh, cachopa!... Oh, cara deslavada!... Mete‑te com os rapazes e depois diz que o toicinho tem bicho.
Os outros riem mais; só ela põe os olhos no chão e puxa o lenço ao rosto moreno, crestado de soalheiras. A faina vai sempre a galope, que aquilo é festança ao pé das horas de
ceifa.
Adeus, ó mota do Serra, Aí, rodeada de canas.
E as companheiras respondem à que canta: Ai, rodeada de canas...
Um rolheiro tombou e logo dois ceifeiros o foram erguer de novo, fincando‑o bem no canteiro. Das panículas caíram
grãos.
‑ Isso bem fixe!... Pouca sacudidela, que o arroz não é
p'òs pardais!...
A voz volta a alegrar a malta:
Vim para cá degredada,
Não sei por quantas semanas.
As outras repetem, como a fixar bem a pena:
Vim para cá degredada,
Não sei por quantas semanas.
A cantiga faz conceber pensamentos. Mas logo se abortam, que aquilo não é ceifar. Os corpos esquecem fadigas e o abalo da malária.
Três homens saíram do rancho e foram deitar abaixo uma maracha, pois a carreta na outra volta tem de entrar naquele canteiro, para recolher os molhos.
E o ruído metálico das enxadas junta‑se ao tilintar das guizeiras e à chiada dos carros.
‑ Vá, Cartucho!... Oh!... Oh!...
O Sol embrandeceu. Começa a descair para o poente, a distinguir‑se em vermelho e a querer galgar os montes do Norte. A calma da tarde penetra nas árvores e nas poisadas, nos cantos dos pássaros e nos alugados.
Vai‑te, Sol, vai‑te, Sol... Um coro entoa aquela cantiga ‑ mais prece do que cantiga.
Vai‑te, Sol, vai‑te, Sol Lá pra trás do barracão...
Os capatazes rezingam. Acham que aquilo é cantiga de langões e o Agostinho Serra amofinava se ouvisse. Para comprometer um rancho, era quanto bastava.
‑ Gente de seiscentos diabos!... Esses molhos bem apertados, que o baraço não geme.
Os segadores vão e vêm a trazer as gavelas nos braços, jungindo‑as sobre as outras.
És alegria prà gente E tristeza pró patrão...
Sorriem à socapa, uns para os outros, pois já conhecem as iras do Francisco Descalço quando ouve aquela.
‑ Ó tu, Custódia!... Estás douda, mulher?... Andam mortinhas pra serem galadas e depois choram na cama, que é parte quente.
Bem ouvem os seus ralhos, mas não lhes dão ouvidos. E repetem o coro, esganiçadas:
... És alegria prà gente E tristeza pró patrão.
Os rolheiros levantados marcam todo o canteiro. E passam logo a outro. Parecem apostados em varrer tudo aquilo de gavelas.
Da carreta que chegou, os bois campainham os colares, a sacudir os mosquedos, e olham os molhos, a remoer, com ganas de os retraçar. Mas os brabis de junca metem‑lhes açaimo no focinho e acirram‑lhes a gula.
O feixeiro crava os bicos do forcado nos rolheiros, levanta‑os a poder de músculo, e vai com eles pela resteva fora, evitando balanço, até ao carro. De cima, o carreiro apara‑os nos braços e dispõe os molhos com as panículas para dentro da mesa, não se perca uma boa mão‑cheia.
‑ Pinga que parece chuva.
‑ Isto é que foi uma colheita...
‑ Cresceu como alhos.
Os baraços abraçam as gavelas, cingindo‑as bem, como cintas a apertar quadris de glorianas ou carmelas. Os remoques dos capatazes dirigem‑se agora para essa faina, pois um rolheiro já se esbandalhou e as espigas acusaram a queda, perdendo cereal. Um deles saltou para o canteiro, a blasfemar, e foi refazer o molho.
‑ Nunca mais sabem coisa que preste. Lá em risota e cantoria ninguém vos leva a melhor. Agora em trabalho... Mal empregado o dinheiro que ferram.
Nos rostos morreram os sorrisos; os olhos ladinos e de poucos amigos do capataz vão de alugado a alugado, espiando‑lhes os gestos. Uma cachopa levou 'ordem de largar, por se ter ficado a ver um bando de cegonhas a evolucionar no céu, como a despedir‑se do Sol, com as asas brancas franjadas de negro.
O ruído da debulhadora vem cá acima ao arrozal e o fumo da locomóvel põe no céu uma mancha de sujidade.
Fica mais outro canteiro enrolheirado. O pardaleiro põe‑se de atalaia, não venham os pássaros procurar comida nas espigas, agora jungidas, a desafiar‑lhes a gula. O feixeiro vai levando os molhos ao carro, na ponta do forcado, como porta‑estandarte de um cortejo de rolheiros que ficaram na resteva, cansados da marcha. No coruto dos taipais, o carreiro finca os pés a consertar os últimos molhos.
‑ Já chega, ó Toino!
Os bois tilintam as campainhas, impacientes com o ferrão das moscas. Direita à soga, canhota de vara alçada, o maioral fustiga‑os para a viagem de retorno. Os animais retesam os jarretes na gleba, mas as mãos afundam‑se no lamaçal do canteiro, que parece querer engoli‑los.
‑ Astra, boi!
A carreta já se moveu, mas para se enterrar também até ao cubo das rodas. Os dois imprecam, limpando o suor com a ponta dos dedos.
‑ Vá lá agora! Vá lá com força!
O feixeiro deita as mãos aos raios com as pernas abertas a procurar mais apoio, enquanto o carreiro espicaça o gado com o aguilhão.
‑ Éi, éi, éi!... Vai, Galante!... Anda, Cartucho!...
Cabeças baixas, como a quererem marrar, de corpos atirados à frente, os bois tentam novo impulso, alegrados pelos gritos dos homens.
‑ Quió... ui... eh!... Êi... ó!...
Um dos animais safa a mão, atira‑a adiante para galgar caminho, mas desaparece de novo, no lameiro viscoso. A carreta balouça, como a querer voltar‑se, e tudo se aquieta. Homens e bois estagnam na sua impotência. Quanto mais se mexem, mais as rodas se afundam. Os bois resfolegam de olhos tristes, com a baba a escorrer‑lhes da boca. Estão atolados até à barriga, sacudindo os rabos em voltas e reviravoltas.
Peixeiro e carreiro olham‑se, sem palavras. O capataz dos rabezanos vem a caminhar para eles; os ceifeiros fazem mais longo o caminho até aos atadores. O trabalho quase parou. Ali vai ser preciso dar ajuda e todos olham, curiosos, a carreta e os dois homens.
‑ Então, vai ó quê?!...
‑ Eu logo disse. Só se os bois tivessem asas é que isto de cá saía.
‑ Com um lameiro destes... A gente no fim é que se lixa. Não basta o que basta...
‑ Isto com trenós era um serviço limpo. Assim...
‑ É dar um fôlego ao gado.
‑ Só deitando tudo abaixo, e mesmo assim não sei... Os animais perderam a alma e não há quem os tire daqui.
O capataz faz sinal para o rancho e oito homens vieram a correr pela linha adiante, até àquele polígono.
‑ O seu João, vamos lá mais uma vez.
‑ Só serve pra moer o gado. Eu conheço‑o melhor do que às minhas mãos!...
‑ Isto nem com mais duas juntas arranca daqui ‑ acrescentou o feixeiro, mal‑humorado, puxando as calças acima para entalar melhor a camisa.
‑ Serviço destes só por degredo.
Os homens distribuem‑se à volta da carreta, a procurar melhor jeito para animar o gado e suavizar‑lhe a carga. Quatro vão às rodas, um alivia a canga, e os outros metem‑se à traseira, fincando as mãos ou os ombros na ponta da mesa.
O maioral volta para a frente dos bois, pegando na soga, a praguejar baixo.
‑ Está tudo?... Isto é querer dar‑lhe saúde depois de morto!...
O tantã da debulhadora e da locomóvel não cessa de ralar o silêncio. Sobre ele projecta‑se agora a garridice de uma cantiga e o alarido de atadores e gaveleiros.
O Sol fica mais frouxo ainda. Descai para u poente numa infusão de vermelho. laranja e violeta. A nuvem de estorninhos chagueia o céu.
‑ Vai!... Oh!... Ah!...
‑ Ei... éi... éi...
Os braços dos homens fazem‑se tensos, enquanto as bocas gemem. Os pés querem fincar‑se na resteva, mas patinam. E os bois solavancam os corpos pesados, retesando os músculos. A carreta estremece, bamboleia, e pára de novo. Um molho despenhou‑se dos taipais, tombando no canteiro.
O gado amodorra, como se repousasse na mota. Os homens arfam, encolhem os ombros e limpam o suor do rosto.
‑ Carga abaixo!... Agora., cevada ao rabo.
‑ Raios partam isto!
Os baraços enfeixam as gavelas. Não param de trazê‑las da cama da resteva, entre os braços, os homens e as mulheres. Assemelham‑se a um carreiro de formigas a carregar materiais e alimentos para o ninho. Os atadores são a meta do seu esforço. A recolher‑se nos montes, o Sol anuncia o breve findar da labuta.
Um silvo da locomóvel dará o sinal de largar. Todos os alugados irão à ceia e saberão das melhoras dos que não pegaram no trabalho.
O tocador da guitarra Precisa duma gravata...
‑ Traz aqui mais uma, ó cachopa.
‑ Esse apertar bem temperado!... Não deixem isso à bambalhona, mas não me partam as canas!
... Precisa duma gravata
à socapa, os moços beliscam as raparigas e dizem‑lhes gracejos. Elas empurram‑nos e riem.
Eu vou mandá‑la fazer Do rabo da minha gata.
Do canteiro onde a carreta se atolou vêm brados, tilintar de campainhas e pragas. Os bois já se ergueram, mas o carro não saiu. O maioral blasfema, afagando o Cartucho e o Galante.
... Do rabo da minha gata.
Dissolveram‑se as cores na tibieza da luz. A estrutura das coisas perde relevo. Por toda a Lezíria Grande perpassa o bafo morno da tarde que vai morrer.
As canções e os gritos ganham mais eco. O tantã da debulhadora e da locomóvel domina mais. Nas cabeças dos eirantes. tudo aquilo se enlaça, como se as correias lhes passassem nos pensamentos e os êmbolos cavalgassem dentro deles.
Vai para o sol‑posto, mas nos seus corpos já o dia morreu.
A azáfama ali não pára; as máquinas não sentem cansaço e os homens devem acelerar as mãos ao seu ritmo. Os volantes perderam os raios com a velocidade e as correias passam velozes, um pouco bambas. O braço da cambota não se desalentou ainda e os cilindros arfam, mas não estão afadigados. O manómetro não desceu dos quatro e as bielas da válvula de moderação rodopiam sempre, como tomadas de loucura pela influência daquela polifonia alucinante.
Os homens tornam‑se máquinas também; não raciocinam nem têm querer.
O chicotear das correias choca‑se com as ordens do mancebo que é quem tudo ali manda. As suas ordens sibilam mais que o estalar das correias.
A debulhadora estremece e abala os eirantes e o chão. Os batedores correm sempre, como cavalos desenfreados que jamais se ultrapassam, e com as costelas vão ripando o arroz. Os braços da ciranda têm mãos invisíveis que batem palmas ‑ espectadores delirantes da corrida de furacão dos batedores.
O ponto de exclamação do cano da locomóvel corta o espaço.
A eira é uma ilha de temporais no oceano de silêncio da Lezíria.
E os homens não guardam pensamentos, porque são máquinas também a que os volantes imprimem movimentos, por intermédio das correias. Nos rostos, nas mãos e nos peitos o suor amassou as poeiras e as palhas que redemoinham no ar.
As falas ali são ralhos ‑ parecem gritos hostis. O tantã devora as palavras amenas.
‑ EH, FRANCISCO!...
Não há risos nem cantigas. Só as correias riem ‑ só a debulhadora e a locomóvel cantam.
Cantam e riem pelos eirantes ‑ riem dos eirantes.
Para a meda começam a descarregar uma carreta de molhos que voltou do arrozal, as mulheres, num andamento vivo, levam‑nos para o fraseal, talhado junto da debulhadora. Carregam‑nos à cabeça, amarfanhadas pelo peso amparam‑nos com as mãos erguidas. As pernas já decoraram o caminho ‑ caminho mecânico, como o da cambota que não parou ainda.
As mulheres não param, porque o Sol ainda rutila ‑ embora frouxo.
A cambota cavalga, porque na grelha as labaredas sobem, e o ajudante do maquinista deita ainda lenha na fornalha. O fogo lambe‑lhe o rosto e afogueia‑o.
Correm sempre os batedores e não se ultrapassam nunca. Embala‑se a ciranda num frenesi e a faina nunca mais adormece.
O penacho de fumo da locomóvel corre para o poente ‑ parece que o Sol o atrai.
Cá de baixo do fraseal, um homem dá os molhos na ponta do forcado para o outro que se postou no coruto da debulhadora e desata os baraços, passando as espigas ao da caixa do batedor. Por aquela goela se afundam as panículas que as costelas ripam. Do boquete para o carro de mão o arroz vai saindo liberto dos caules.
‑ ESSA PALHA TIRADA!...
As falas ali são ralhos.
Uma mulher mete o rodo debaixo da máquina e puxa as palhas miúdas ao jeito da burra para as arrastar para o monte. A égua que está atrelada leva‑as num passo pesado, meneando a cabeça. As outras passam ao monte da enfardadeira, quando saem da debulhadora, na concha de um ancinho de pau.
Ali os homens comem palha e respiram palha. Uma comichão atroz percorre‑lhes o corpo suado, como se tivessem sarna.
O maquinista deita óleo nos lubrificadores e espreita o manómetro. As correias passam sempre. Os volantes ainda não encontraram os raios.
‑ Vão lá vossemecês agora.
Os dois homens que estavam a descansar num banco tomam o lugar dos outros. Um sobe a escada e vai para a caixa do batedor; o outro encaminha‑se para o frescal e toma conta do forcado.
Naquela transmissão, o trabalho não pára. A debulhadora é insaciável ‑ está faminta de espigas.
Os carros vão e vêm, ora vazios, ora cheios de bago de oiro. E a balança vai pesando as sacas, que hoje mesmo se há‑de carregar o barco atracado à praia.
Os dois homens substituídos tomam o lugar dos outros no banco. Metem a bilha à boca e parece que a querem devorar. Sentem as entranhas em fogo ‑ os corpos em desalento. Picam de cerviz pendida, com o respirar apressado, como se os volantes lhes marcassem o encher dos pulmões.
E ficam para ali a cuspir pó e palha. Quando o boquete encher dez carros, voltarão aos seus lugares.
‑ DÁ ESSE PÃO COM MENOS BALANÇO!...
O mancebo é quem manda. Os seus gritos soam como imprecações, pois o tantã consome tudo. O chicotear das correias embate no ar com as ordens do mancebo. Os cilindros saltitam impelidos pelas bielas e a cambota espreita e afunda‑se ao mesmo andamento.
Nas cabeças dos eirantes tudo aquilo se enlaça, como se as correias lhes passassem nos pensamentos e eles fossem as camisas onde saltitam os êmbolos.
Moribundo, o Sol desfalece, a rasar os montes. Os choupos e os salgueiros dispersos parecem mais torturados na sua solidão. As cores fundem‑se umas nas outras, como a quererem confraternizar. Os longes apagam‑se. A paz envolve tudo ‑ paz falsa.
Há gente nas poisadas a tiritar sezões. Há gente no arrozal a enrolheirar ainda. Na eira vai uma tempestade de fricções e estalidos, rodopiares e bateres, gritos e cansaços.
Não param as máquinas ‑ não param os homens.
Ali não há homens ‑ há máquinas. Só máquinas.
E para esta noite ainda há trabalho, pois a fragata atracou à praia e o patrão tem pressa que a fábrica lhe pague. As contas saíram‑lhe certas; o dinheiro é a apoteose da incerteza do ano.
A debulhadora estremece tudo. Os molhos vão andando da meda para o fraseal e depois para a caixa do batedor. O boquete golfa oiro. O maçador expele as palhas. Na enfardadeira, o arame não tem descanso, a aperrar os fardos.
E os dois homens, envolvidos num nevoeiro de pó e palhas miúdas, não podem sair daquele inferno. São máquinas e não têm querer. Comem palha, respiram poeira. Os seus olhos apagaram‑se, os seus rostos indefiniram‑se.
‑ ESSA PALHA TIRADA!...
Velha e trôpega, a égua puxa as palhas com a burra que a mulher ajeita. As moinhas correm na eira, porque começa a soprar um norte brando que as impele e as enleia no ar. Rancorosos sempre, os bicos dos forcados esfaqueiam o ventre dos molhos e erguem‑nos à debulhadora, enquanto o eirante que está em cima os desfaz, desprendendo‑lhes os baraços.
Na boca do batedor as panículas correm a satisfazer a máquina tão esperta e azougada como de manhã.
Pelo carril passam três juntas de bois para safar a carreta. Na eira vêem‑nas, mas não as ouvem. Quem domina é a debulhadora e a locomóvel ‑ mais do que o mancebo.
A nuvem de estorninhos não cessa de se enovelar e subir, de despenhar‑se e fugir. Os estorninhos juntam‑se para se defenderem do milhano que os espreita; já sabem que se dispersarem as garras não os poupam. Assim, em multidão, o perigo afasta‑se.
Os estorninhos ensinam os homens ‑ os homens teimam ainda em não compreender a lição.
Do aposento maior, o patrão sai com o empregado da fábrica. Por entre os vidros, a cabeça da Rosa espreita e desaparece. «Como ela gostaria de andar na eira ajoujada com os molhos ou a puxar ao rodo. E a enrolheirar não se falava, que sempre é trabalho mais leve e com a mesma paga.»
‑ Então, comeu‑se bem?...
‑ Quem nem no hotel, Sr. Agostinho.
‑ Não vá dizer como da outra vez...
‑ Ora!...
E riem ambos. O lavrador passa‑lhe a mão pelo ombro e cochicha. O outro sorri, de olhar guloso.
‑ Sem interesse, Sr. Agostinho. Sem interesse...
‑ É um favor.
‑ Aos amigos...
‑ Não impede que eu lhe mande uma recordação.
‑ Não se incomode.
‑ Incómodos, isto?... Ora essa!... Pois agradeço a boa vontade e não me esqueço de si. Tudo me falta, menos Isso. Lá memória, ainda me sobeja.
Quando os viu, o mancebo, aproximou‑se. O rodar dos carros do boquete para a balança continua ainda.
Não há risos, nem cantigas. Só as correias riem ‑ só a debulhadora e a locomóvel cantam.
Cantam e riem pelos eirantes ‑ riem dos eirantes.
O tropel de batedores e costelas continua a debulhar o arroz. Os braços da ciranda prosseguem no seu vaivém. Ouvem‑se gemidos de fardos na prensa e o resfolegar dos cilindros. Num corropio, as mulheres levam os molhos à cabeça para o fraseal.
‑ Que é que debulham agora? ‑ pergunta o lavrador para o mancebo.
‑ Chinês. E bem bom.
‑ Humidade?!...
‑ Pouca. E arroz verdete lá um bago à escapa.
‑ Está bem. Vai lá.
No caminho, para mostrar que lhe têm respeito, o mancebo lançou remoque a uma das mulheres que se não ajudava a um molho; para o feixeiro guardou também uma recomendação. Subiu depois a escada e foi receber os romeiros, entregando‑os ao outro para desatar.
‑ ESSE pAo MENOS SACUDIDO!...
O Sol descera o monte para o outro lado. Ficara pelo azul o sinal da sua passagem nas pinceladas de vermelho, laranja e violeta que o besuntam.
Há calma para além da eira. Uma estrela cintila no céu ‑ nasce a amargura no coração dos homens.
Pela noite adiante há trabalho na carga. Os carreiros foram ceivar uns bois e brochar outros. Não há tréguas. Ceia depressa e depois sacas às costas. Os gaibéus gostam daquilo, porque sempre é mais alguma coisa que vai para o canto; mas os corpos andam sem ganas, pois o trabalho não falta e as sezões não poupam.
O apito da locomóvel ainda não soou.
Para a máquina ainda não é sol‑posto ‑ nos braços dos eirantes há quanto tempo ele vai.
Cada homem na eira não passa de um volante, uma correia ou um braço da ciranda. Quando o apito soar, o volante achará os raios, a correia e o braço da ciranda adormecerão. Os homens irão ajudar à carga e pensar na vida. Nos corpos de alguns correrá o frio das sezões; e os cérebros, libertos da vertigem comunicativa das máquinas, encontrarão pensamentos. Mas os seus pensamentos não sabem ainda acalentar fadigas. Nas poisadas, a vida torna‑se mais negra.
De novo se acham homens, e gostariam de ficar máquinas para sempre ‑ as máquinas não pensam.
Ainda ninguém parou. Nem na eira, nem na carreira, nem no enrolheirar.
O Sol desceu o declive do monte, mas a ordem só virá quando estiver bem morto ‑ tão morto como os corpos dos alugados.
Os batedores galopam, a consumir espigas, a ciranda embala os grãos, o corta‑palhas e o maçador labutam.
O mancebo espreita o relógio. O Agostinho Serra mira o céu e procura o Sol. Já lá vai há bom pedaço.
Então ouviu‑se o grito da locomóvel a avisar os ranchos de que a faina findou por agora.
A enfardadeira parou. As duas bolas da válvula seguradora rodam mais frouxas e os cilindros soluçam. Os batedores param de correr e nenhum deles venceu ‑ partiram e chegaram juntos. Na fornalha, o fogo abrasa o rosto do ajudante que lhe atira um caneco de água. E o fumo enovela‑se e sobe, misturando‑se ao que a chaminé expele. No ar fica aquela nódoa a desfazer‑se.
Os eirantes passam os lenços pelo rosto, a libertá‑lo da lama de suor amassado com poeira e palhas miúdas, e vão levando os forcados e os ancinhos para a abegoaria. O Agostinho Serra ri com o empregado da fábrica e bate‑lhe no ombro.
‑ Dêem depressa a esses queixos; precisamos de aproveitar a maré. As falas não são ralhos. As máquinas pararam e os eirantes tornam‑se homens.
Pelo carril, o rancho caminha em grupos dispersos. Estugados de passo, os homens marcham à frente a larachar. Há carga, e os gaibéus poderão juntar mais algum dinheiro para o Inverno. Os corpos escusam‑se a maior labuta; o futuro traz descanso forçado e a jorna não cai do céu. O Inverno dá chuva que enfarta os ribeiros e os campos.
‑ Vá lá essa coisa!... Deixem‑se de lavagens, que não vão para o bailarico.
‑ A maré não espera.
É preciso cear a galope. O Agostinho Serra vai mandar arroz à fábrica e quer receber o dinheiro. A fragata está à espera da sacaria, com as pranchas lançadas ao valado, enquanto a companha dorme nos beliches, pois a noite vai ser de vela e não tem havido tempo para descansar a horas. Em cima da proa um cão vigia, deitado sobre um rolo de corda, e abespinha a cabeça, abrindo a boca quando alguma mosca lhe passa perto. Sacode o Tejo uma mareta tocada pelo norte.
Nas poisadas dos rabezanos cozinham‑se batatas; não há tempo para preparar outra ceia. Batatas e pão é ceia de fidalgo. Aos gaibéus basta um pedaço de toucinho derretido no cacifo. E com um naco de pão duro a refeição fica pronta. Os que foram destacados para a eira não vão lá acima à poisada. Não cresce o tempo e o abegão está‑lhes à perna. Isso os contenta, porque nunca outra época de Lezíria, mesmo na monda do arrozal, atirara tanta gente à esteira. Ir à poisada era semear amarguras. Para não se perder tempo com caminhadas ao barracão, o Agostinho Serra mandara construir com prumos e carroicil um aposento para o rancho, junto à seara, entre o carril e a vala. Os alugados mais altos tinham de andar lá dentro de tronco curvado; quando se deitavam, os pés iam tocar na outra parede da poisada. Dormiam lado a lado, corpos com corpos; as mulheres separadas dos homens por uma divisória de palha que nem a vista vedava. Os sacos e as caixas do arranjo haviam ficado no barracão, pois não cabiam naquela manga coberta de zinco, por onde entrava a luz das estrelas. Para bem pouco serviam as mantas. Os nordestes, embora as aberturas do carroicil escancarassem as poisadas, podiam correr de gume cá fora. Ali pareciam brisas bem‑vindas, que temperavam o ambiente de fornalha de meio cento de alugados respirando toda a noite o mesmo ar insalubre. Quando lá entravam, aquele bafo podre dos suores oprimia os pulmões. A malhada do gado seria um oásis.
Mas depois era como se vivessem todas as horas naquela atmosfera pesada. Nas cabeças entrava uma sonolência que ajudava ao descanso e o chapinhar das rãs na vala soava como canção de berço. Ficavam irmãos dos vermes que viviam na estrumeira.
‑ Vamos para a arca, ó Manel.
‑ Arca?... Nunca ouvi chamar isso a um curral.
E riam. Mas aqueles risos eram sinistros ‑ sinónimos de angústia e desalento. Eram gaibéus ‑ gaibéu é menos que rabezano.
Perto, passava a vala em cambiantes de verde, garrido que nem um cromo para casa de noivos. Espadanas e tabugas, hirtas ou dobradas, no seu verde‑negro. Ervas viçosas de verde‑‑médio a atapetar as margens. Lá adiante, numa curva que parecia um meneio, a rumaria quase despida de um salgueiro‑‑menino. E nas suas águas paradas e barrentas, olhas e veias da negro‑viscoso, ilhotas de verde‑branco dos limos miúdos.
Dali entoavam as rãs os coaxares que aborreciam os ouvidos, devassando a poisada. Os tira‑olhos desciam no seu dorso estagnado, a descansar dos voos da Lezíria. E os mosquitos encontravam o seu albergue, dominando mais que os verdes. Erguiam‑se dali em nuvens para levarem consigo a malária pelo campo.
Naquela vala as águas tinham adormecido há muito e o cheiro que soltavam vencia o bafo dos corpos. Depois que o rancho se instalou no aposento, a vala tornou‑se a fossa das necessidades. Alguns bramavam, mas quase todos a escolhiam.
‑ Tira‑te daí, porco!
‑ Vai‑te lá... Onde é que um homem há‑de escorrer o caldo à carne?
Nunca, como naquela colheita, as sezões derrubaram tantos alugados. Nenhum escapara ao seu frio, que tolhia os corpos, roubando‑lhes alentos. Caíam uns pela manhã e outros depois do almoço. E mal podiam erguer‑se, logo tomavam rumo à seara para ganhar algum quartel. Emagreciam, mas as pernas e os braços pesavam mais, como se cadeias de ferro os tolhessem.
Os capatazes falavam em quinino ‑ cada roda custava um quartel de trabalho ‑ e eles tinham vindo para guardar alguma coisa de comer para o Inverno.
Nessa altura, as receitas não faltavam: rabo de bacalhau em aguardente, aguardente com canela, chá de jaribão...
Melhoravam quase sempre. Mas o remédio não vinha nas receitas. Juntavam as últimas energias e podiam reagir para pegar na foice. O sábado aproximava‑se; quando as fateiras partissem para a Vila, a aviar os fatos, não poderiam comprar o pão e o conduto.
‑ A doença não é mal de pobre. Ainda se Deus viésse cá abaixo...
Enrolheirar parecia bem melhor que ir à poisada para dar repouso ao corpo e ouvir os gemidos dos doentes, mirrados na esteira.
‑ Está com ela outra vez, Ti Maria?!...
Os lábios sem viço são chagas onde as moscas poisam. Seca de tudo, a boca não conhece palavra. Um cerrar de olhos responde à companheira e as mãos afiladas sem carne, como moldadas em cera, cruzam‑se no peito ou sacodem‑se no ar, afugentando as moscas.
De farripas desgrenhadas e brancas, o cabelo contrasta com as faces de pergaminho, onde os anos desenharam rugas. Inclina a cabeça, cerrando os olhos, corre pelos lábios a ponta da língua branca, e fica‑se como para a morte.
A companheira passa‑lhe o lenço sobre o rosto e pensa. Olha‑a longamente, suspira, e entristece mais.
Só ficaram duas no compartimento da poisada. As ceifeiras doentes vieram para o carril, enroladas na manta, a fugir àquilo. E as outras preparam a ceia à volta do lume.
‑ Faz‑te mal a noite, mulher. Sacodem as cabeças e ficam.
Quem pode descansar ao lado da Ti Maria do Rosário sofrendo do mesmo mal?
A Ti Maria do Rosário parece a morte feita gente, vestindo trajes negros. Elas temem‑lhe a presença. Ao fedor da vala e dos corpos juntou‑se agora o cheiro da febre.
Aos gemidos uniu‑se o zunir dos mosquitos.
A companheira reza, entre lábios, pedaços de orações. Frouxa de luz, a lanterna bamboleia leve, na trave da poisada. Faz ali uma eira de claridade baça que amarelece mais o rosto da doente. As sombras deslocam‑se, ora recuando e fugindo, ora caminhando à sorrelfa, a espreitá‑la.
Cabeças surgem à porta da poisada. Volta‑se a ceifeira que vela e leva o indicador aos lábios. As cabeças interrogam num gesto e ela responde‑lhes num encolher de ombros.
A Ti Maria do Rosário abre os olhos, estremece o corpo e tacteia a manta com a mão. A companheira entrega‑lhe a sua e deixa afagar‑se. Um arrepio corre‑lhe o corpo. Um coaxar de rãs é o eco daquele arrepio.
Chora uma criança num carpir sacudido pelo embalar. Os homens apressam a ceia, o abegão já mandou um recado e naquele ambiente os alentos falecem.
Os gestos são desordenados. As palavras ciciadas atroam mais do que gritos de súplica. ‑ Como é que vai!
‑ Está com ela outra vez. O Toino do Poisio diz que com aguardente e canela aquilo passa. É bom como quinino.
‑ Ah, mulher!...
‑ Ele diz que foi assim que a deitou fora. É uma bebedeira, mas passa.
Nasceram estrelas no céu. Há orquestra de grilos a desafiar as rãs e lumes na noite.
Os homens marcharam para a carga; só as mulheres e as crianças ficaram ali. Juntam‑se em grupos, como se assim defendessem a vida, bichanam conversas, mas a maior parte deixa falar os grilos e as rãs. Estão mudas.
Ramalha uma brisa na vegetação da vala ‑ a brisa arranha as paredes de carroicil da poisada. Arregalam os olhos, agitadas de sobressaltos, e querem penetrar a escuridão, onde adivinham vultos a mover‑se. Unem‑se mais e conversam ‑ falam da terra e do trabalho, curvando as cabeças e apurando os ouvidos. Nas coxas, as mãos descansam com tédio.
‑ A Rosa, coitada...
‑ Quando a mãe souber, Deus Santíssimo!...
‑ Que aquilo são uns apuros com ela...
‑ Aquela Maria Gadanha!... Apaparica‑as, mete enzonices nas cabeças das cachopas e depois...
‑ Quando a mãe souber, Deus Santíssimo!...
‑ E pode ser que a Rosa se tenha furtado. Tão desenxovalhadinha... é uma pena.
Depois esquecem‑se da conversa e fica um vácuo entre elas. De novo ouvem mãos a abrir fendas na poisada e vêem sombras a correr na vala.
Os gemidos dos três homens e os da Maria do Rosário granizam‑lhes os ouvidos e a alma.
‑ Como estará ela?!...
‑ Ainda se quisesse hospital...
‑ Ah, mulher, credo, Nosso Senhor! E benze‑se, num movimento rápido.
‑ Ainda não há como as bruxas para estas coisas. Se aqui houvesse alguma, já a desgraçadinha não estava assim.
‑ Ora!
‑ Digo‑to eu, cachopa. Isto de hospital é coisa ruim.
‑ Dão lá um caldo da meia‑noite...
‑ Nem m'alembrava disso.
‑ Mãe Santíssima!... Ai credo!...
Uma delas levanta‑se e vai espreitar à porta da poisada. A doente agita‑se em tremores convulsivos, dentes castanholando, respiração presa e olhos apagados; arrepanha as mantas com as mãos débeis e enrodilha o corpo, levando os joelhos ao corpo; afunda a cabeça entre os braços e fá‑la surgir
depois, para soprar afrontamentos; acaba sempre num suspiro prolongado e manso.
‑ Está que nem um ramo, mulher! Aquilo vai aos poucochinhos e fica aí que nem um passarinho.
A companheira que vela sente‑se mais só. Um choro de criança é abafado, logo de pronto, pelos sinais das mulheres. Ela gostaria que a criança ficasse a carpir pela noite fora, porque assim terá de ouvir o rã‑rã da vala e reparar nas sombras agitadas que o candeeiro vai criando.
Invade‑a uma tristeza que não sabe explicar. Será medo, talvez ‑ mas de quê o seu medo?
A velha está na esteira, mirradinha que nem uma tísica, e dali o mal não virá.
Porque gostaria ela de ficar a ouvir o choro da criança?!... Doideira sua. Dá‑lhe vontade de cantar. Parece‑lhe que a companheira é uma menina que deixaram ali para que lhe contasse histórias e a embalasse. Mas a outra continua com os olhos cerrados e não tem cara de criança; vê‑lhe o rosto esguio, de maçãs salientes, e a boca desbotada, coberta de pústulas, onde as moscas teimam em pousar,, embora ela as enxote com o lenço. No tom esverdeado daquela cara de defunta há pregas de rugas que a luz baça do candeeiro vinca mais.
A velha entaramela umas palavras e continua a agitar as mãos na manta. Só a respiração se faz mais arfante e menos funda. A inquietação da que vigia avantaja‑se sempre, como a maré a subir lá ao longe, no valado, onde os homens começaram a carga da fragata.
Será medo, talvez ‑ mas de quê o seu medo? Sente‑se mais só. Ainda se não pensasse, poderia ficar junto da velha a noite inteira, sem experimentar os sobressaltos que a abalam e a tomam de pavor. Olha à sua volta e as sombras redemoinham na poisada. Procura pará‑las com os olhos, mas elas correm sempre mais, cada vez mais, como se o seu olhar as fustigasse.
O zangarreio dos grilos e das rãs assemelha‑se a coro incerto em que as gargalhadas fazem uníssono com lamúrias, e depois se desprendem e se afastam, para voltarem a fundir‑se.
Correm‑lhe suores da testa ‑ suores frios, como os da Ti Maria do Rosário. Sente que vai adoecer. A mão da outra tacteia, em busca da sua, e ela foge‑lhe. E julga que a mão descarnada se desprende do braço e a quer tocar. Vai recuando de joelhos; dali, a cabeça da velha parece mais esguia e esverdeada. O corpo não avoluma debaixo das mantas; a cabeça está abandonada como coisa inútil.
A doente acorda e os seus olhos vagueiam na poisada.
‑ ó Adelaide!... 'delaide!...
Aquele apelo manso aquieta‑a. Volta para junto dela, sacode as moscas e entrega‑lhe a mão, receosa ainda. O agradecimento do olhar da companheira reanima‑a. E sorri‑lhe.
‑ Vai melhorzinha, ha?!. Se Deus Nosso Senhor quiser, não há‑de ser nada.
Só os homens atacados de malária não vieram para junto do valado carregar o barco. Os capatazes dirigem o trabalho e o Agostinho Serra também deitou ali, a pressioná‑los com a sua presença. Nas carretas trocaram os taipais pela fueirada que ampara os sacos de arroz carreados da eira. Os bois não têm brabil e mascam bandeiras de milho, agitando a cabeça.
De cima da carga, os carreiros erguem as sacas pelas orelhas e põem‑nas ao jeito de os homens as levarem. Estes vão e vêm, cruzando‑se a correr, como se levassem destinos diversos. Estão em camisa, de mangas arregaçadas e peitos ao léu; a faina ensua e a brisa reanima, acariciando‑lhes as carnes. Trazem enfiadas nas cabeças sacas vazias que se espalmam pelos dorsos e lhes dão um aspecto de embuçados.
Os rostos não se divisam ‑ adivinham‑se.
São como pedaços de noite impelidos pelo norte ameno, os homens da carga.
Agacham‑se aos rabos das carretas, abrindo as pernas bem fincadas, e atiram as mãos acima da cabeça, enconchando‑as, a buscar as orelhas das sacas. O carreiro pega‑as pelo fundo e dá‑lhes balanço para os dorsos dos alugados. Eles lá vão pelo capelo do valado, de costas desnudadas e olhos no chão, num passo rápido até à prancha.
‑Vai, ó!.
‑Vai, ó!...
O empregado da fábrica vigia a arrumação. O camarada da fragata e um rabezano balouçam as sacas das costas dos homens para as pilhas.
‑ Se não fosse maré viva, não era esta noite que levantava ferro daqui!. ‑exclama o arrais para o Agostinho Serra, encostado ao mastro, em cima da proa, onde o cão agora dormita.
Os homens depõem o carrego e saem pela outra prancha, no mesmo passo curto e apressado.
No bojo da fragata, as águas do Tejo lamuriam queixas. O canavial rumoreja um diálogo com o rio.
Como corcundas, os alugados vão passando submetidos à carga., e desfilam pelo valado, uns atrás dos outros, em caravana. Dali à embarcação é um declive por onde se despenham, impelidos pelo peso do arroz. As pernas retesam‑se
a travar a marcha e os olhos fixam‑se na estrada apertada da prancha, cada vez mais estreita.
A luz do luar beliscando o dorso do Tejo põe‑lhes trevas nas retinas.
Os pés tacteiam o caminho e eles param receosos. Mas logo um grito os fustiga para marchar sempre ‑ ali ninguém pára, pois o Agostinho Serra precisa de receber da fábrica...
‑ Eh lá!... Tu!...
As pranchas bamboleiam, como canas de bambu oscilando ao vento. Adernam‑se os corpos a receber as sacas, engibados depois até à fragata, onde se afundam, como alcatruzes de nora, para surgirem de novo, ao lado, numa corrida.
‑ Vai, ó!...
‑ Vai, ó!...
‑ Pesam mais que a jorna, estas danadas!...
A tilintar campainhas, lá vai uma carreta com seis homens em cima, para carrear mais sacas. Assobiando ao gado, o maioral marcha à frente, de vara às costas. E os seus brados de incitamento parece que se dirigem aos homens.
‑ Quiá, Marujo!... ‑Vá, Ramalhete!...
Então os alugados ouvem a cega‑rega dos grilos e das rãs. E podem olhar a noite e ver as estrelas.
Tiram as sacas da cabeça e passam as mãos pelos cabelos desgrenhados, como a dar alento ao cérebro. Desatam o lenço que lhes envolve o pescoço e enxugam o suor do peito e do rosto.
‑ Que empreitada, ó Zé!
‑ Arre, gaita...
‑ Ande lá com o carro mais devagar, ó camarada!... Não me toque esses bois!...
O maioral sorri. Os homens enganam as fadigas, rindo do pedido. O campainhar das coleiras gargalha com eles.
‑ Se o arroz custasse tanto a comer como a carregar, nunca lhe punha o dente. Fora, bode!...
‑ É como chumbo!
Tremelica‑lhes os corpos o andar da carreta. E chegam até eles os gritos de ajuda e o estrupir dos pés nas pranchas.
‑ Vai, ó!...
‑ Vai, ó!...
Os que ficaram não entristecem no trabalho. Estão alquebrados pela labuta do dia e pelo esforço da carga. Mas o Agostinho Serra dá mais uma lembrança no fim da semana e prometeu também um copo de vinho a cada um.
Já não sabem o que isso é, anda aí por três semanas. Naquela emposta o vinho não entra, porque a bebida rebela os homens e o patrão não quer discussões e bulhas.
Naquela noite os rapazes estão de festa; não há perigo de qualquer homem deitar à mota da palha. Só o Marrafa não está com eles, porque na carreia tem de conduzir uma junta. Agora não há sobressaltos, nem vigilâncias. É melhor assim.
Ali ninguém padece, nem está marcado a fogo, como as éguas e os bois. São homens já, mas não andam na carga. Não ganham gratificação, mas também os outros não podem fumar cigarros, mesmo de barbas de milho.
O pai do Cadete não os acompanha naquela noite. Os brados do trabalho no valado e na eira morrem antes de entrar na mota. Nada os sobressalta. Sabe melhor assim.
E os homens não cessam de conduzir sacas ‑ das pilhas da eira para as carretas, das carretas para as fragatas.
‑ Vai, ó!...
‑ Vai, ó!...
Um alugado perdeu o tacto na prancha e por pouco não se despenhou no rio. O Agostinho Serra brama de meias com os capatazes. Os homens hesitam na ponta do caminho.
‑ Vá lá isso!... Que é que vocês esperam?!...
‑ É melhor descalçar ‑ aventa o arrais para o patrão. ‑ Eu nem sei como ainda não houve mergulho.
As pranchas matraqueiam sempre. Os homens passam nelas, acima e abaixo, correndo no mesmo andamento.
O Agostinho Serra dá ordem: «Esse calçado fora!...»
Na noite não se vê o caminho e os pés não têm olhos. Cardos e espinhos não mandam tanto como o patrão e os capatazes. Marchar adiante e pé leve. ‑Vai, ó!... ‑Vai, ó!...
Se o vinho não viesse no fim, os espinhos picariam mais a alma do que os pés. Mas assim até servem de galhofa, quando alguém pára a tirá‑los, depois de descarregar.
‑ Anda lá, homem!... Já parece que tenho sapatos outra vez. Sapatos com brochas!
‑ Brochas de cardo, ó Jaquim!...
Logo o capataz alerta desafia os homens:
‑ Vá de graças!... Bonda de risos!...
E uns agacham‑se a tomar as sacas. Outros continuam pelo valado adiante num friso de sombras, como pedaços de noite.
O canavial fala ao rio. O rio lamenta‑se no costado da fragata.
Outra carreta safa de sacaria e a que fora à eira já regressou.
O carreiro fica à espera de ordens, enrolando um cigarro, enquanto o arrais deita olho à carga, para calcular o peso do que leva.
‑ Vai esta e mais outra?... ‑ indaga o Agostinho Serra.
‑ Não me parece. Depois não saio a embarcação. Vá lá aquela e é um pau.
Os homens que tinham saltado para a mesa do carro apeiam‑se. Os que estavam em baixo fazem sogada.
‑ Já me cheira a vinho!...‑exclama um. Os outros riem.
Os dorsos mal sentem as sacas. Os pés não reparam nos cardos e nos espinhos.
‑Vai, ó!...
‑Vai, ó!...
Remoendo a ração de palha, os bois agitam a cabeça, tilintando as campainhas. O maioral chamou o Marrafa para lhe dar ajuda no ajeitar das sacas, pois o arrais meteu a vara no rio e a fragata pouco falta para ficar no lodo.
‑ Eh lá, vamos depressa!...
As pranchas oscilam mais e os homens já decoraram a carre'ra, embora a luz do luar lhes apague nos olhos o rasto do caminho. Novas ganas vieram aos braços para pegar as sacas e às pernas para galgar à fragata.
Não há fadiga que os retenha. Passam uns pelos outros, sem palavras.
De novo o arrais afundou a vara.
‑ A água desce!... Vai isso com alma, senão bem cá fico a noite toda.
Os olhos do Agostinho Serra querem empurrar os homens no seu vaivém. Julga que afrouxaram o trabalho e precisa de receber da fábrica.
‑ Vai, ó!...
‑ Vai. ó!...
Amarrotados de troncos, os homens desfilam sempre pelo valado e pela prancha. Na mesa da carreta não restam sacos para todos e aquilo agora é dar‑lhe mais uma viagem e a tarefa acaba. O patrão conversa com o empregado da fábrica na mesma atitude amiga.
O arrais mandou tirar uma prancha para cima da sacaria; pela outra vão os últimos homens, balouçados pelo carrego e pelo bambolear da estrada.
Largam as cargas onde o arrais indica, e voltam a terra tirando a saca; sentem agora o peito a arfar e suor a escorrer no rosto.
‑ Se puderem vir depois de amanhã, faz jeito.
‑ Há‑de se fazer por isso, patrão ‑ grita‑lhe o arrais, de vara fincada no ombro e no valado, andando pela borda da fragata, de corpo lançado à frente.
O camarada iça a vela armada à cacilheira, e o ruído das adriças do pique e da boca cobre a conversa do rio com o canavial. A brisa incha a vela, que se faz tensa.
‑ Estão lá numa hora!...
‑ É hora!... Temos de fazer bordos.
‑ Boa noite!...
‑ Boa noite!... Boa viagem!...
O cão corre à ré para junto do arrais, já ao leme, e ladra.
‑ Eh, valente!... ‑ grita‑lhe um rabezano. Os outros riem.
A vela da fragata domina a noite. O luar banha‑a de chapa e envolve‑a de luz.
‑ Vá o estai!...
Novo ruído na vela içada a roer o silêncio. A proa mete de ilharga, a apontar a outra margem, e singra mais ligeira.
‑ Boa noite!... Boa viagem!...
‑ Boa noite!...
O luar inunda a fragata e vai também de viagem. Os homens passam no valado, como pedaços da noite a desfilar. Fala alto a voz do canavial e o marulhar das águas.
As gargalhadas dos homens que vão receber o prémio de vinho assemelham‑se ao coaxar das rãs na vala, lá em cima, onde quatro alugados tremelicam sezões.
Os dois gaibéus emigrantes sentam‑se no valado, embarcando os olhos e os anseios na fragata que se afasta. Perderam aquele barco, mas irão noutro ‑ noutro maior, porque aquele é bem acanhado para o tamanho dos seus sonhos.
De um porto mais amplo sairão para a aventura de novas terras.
Ambos querem viver e por isso vão partir ‑ partir breve, porque os dias e as noites passam sempre e eles têm pressa de ser homens.
A vela branca lá vai ‑ lá vai a acenar‑lhes na noite.
As gargalhadas dos companheiros não os espertam.
Ficam ali a ver sumir‑se a fragata e a contemplar as luzes da outra margem.
O outro disse‑lhes que o Brasil está dentro de cada homem, mas esse companheiro deve ser louco e eles querem viver. Lembram‑se agora das palavras da Serafina Saia Nova: «Quem nasce dez‑réís não chega a vintém.»
Eles sabem que o mundo os espera e serão mais que vintém, serão, talvez, como o João da Loja, que fez um arran‑jinho de senhor. Bem mordiscaram os outros, dizendo‑o com morte de homem às costas. Finalmente tudo se calou, porque se chegam a ele quando precisam de dinheiro para os amanhos e para as maleitas.
Se o barco já viesse aí...
Nunca viram barcos de mar, mas constróem‑nos na imaginação e adivinham‑nos a romper ondas e temporais, sempre envolvidos de luz, como as imagens dos santos.
E o companheiro louco e a Serafina Saia Nova ficarão no cais a gritar‑lhes desalentos. Eles não os poderão ouvir ‑ se os ouvissem não saberiam compreendê‑los.
‑ Vamos lá?...
A vela sumiu‑se. As luzes da outra margem desafiam as estrelas. Erguem‑se e vão pelo carril, sem trocar palavras. Juntam os anseios de cada um e fazem o sonho. O sonho pertence a ambos e não saberiam construí‑lo, se não caminhassem juntos.
Os rabezanos ajeitam‑se cá em baixo nas motas e no alpendre, nas manjedouras e pelo chão. Eles têm poisada ao pé do arrozal, mas gostariam de ficar ali com os outros. A ração de vinho animou‑os e caminham pelo carril, trocando gracejos e rindo, a lembrar coisas da carga e do Borda‑‑d'Água que fez uma cantiga ao arrais do barco. E um que lhe decorou o começo vai cantando:
Oiça lá, ó seu arrais
Do barco da vela branca...
E todos repetem a cantiga na imaginação:
Oiça lá, ó seu arrais Do barco da vela branca,
Leve esta saudade roxa Lá ó cais de Vila Franca.
Lá ó cais de Vila Franca...
Mas para além da cantiga, dos gracejos e dos risos, espreitando clareiras que entre eles se abrem, surgem sempre a imagem da poisada e os gemidos dos camaradas que se pegaram às esteiras. Essa ideia teima em querer vencer a alegria falsa que os acompanha pelo carril fora. Afastam‑se, mas volta sempre a enrodilhar‑se nos pensamentos e nos versos da cantiga, como o limo a abraçar os pés de arroz.
E quanto mais a repelem mais aquela imagem persiste em esmagar outras imagens e outros pensamentos. Veio primeiro à sorrelfa com pés de lã, porém agora é mais poderosa do que eles próprios.
É como se o ar que respiram estivesse impregnado de gemidos e de recordações da poisada; como se os cérebros fossem galvanizados por aquela angústia.
Não repetem agora na imaginação os versos que o camarada canta. Esse mesmo só os tem na boca, porque lá dentro impera a mesma desolação que invadiu os outros. Não quer calar‑se; isso seria cair vencido. Já esqueceu, porém, o resto da cantiga do Borda‑d'Água.
Volta ao começo e não consegue:
Oiça lá, ó seu arrais...
O eco daquelas palavras diz coisas diferentes ‑ diz gemidos e queixas. É um eco que fala mais alto do que os versos da cantiga e o silêncio da noite. A própria noite está negra e a luz do luar não a alumia, porque os homens sentem caminhar para eles a imagem da poisada e a orquestração da vala. Vão mais devagar, como se temessem aproximar‑se dos outros companheiros.
Unem‑se mais uns aos outros e marcham em grupo cerrado. O camarada ainda canta:
... lá ó cais de Vila Franca.
‑ Cala‑te lá com isso, ó Zé!... Se não dizes outra!... Riem‑se. Mas logo os risos morrem abafados na sua tortura.
O coaxar das rãs rodeia‑os, já de mistura com os choros de crianças e os ralhos de mulheres. Depois só as rãs choram e ralham. Na escuridão, uma língua de lume da fogueira dos cambarichos entretém‑lhes os olhos, como um farol que os avise de que na poisada não há repouso para eles. Há esteiras para os corpos, mas as cabeças não as encontrarão; as sezões não deixaram ainda de retalhar as carnes sem vigor dos camaradas. Quinino é luxo para alugado e o Agostinho Serra não os contratou com médico e remédios, como alguns patrões já fazem.
«Ano mau, aquele!... As praças cada vez com mais braços e com menos amos.»
E graças por terem trabalho, que muitos, mesmo a jorna baixa, não teriam encontrado patrão.
Nas rodas de mulheres e de cachopas há cada vez menos palavras. Quase todas têm as cabeças caídas sobre o peito e as mãos enlaçadas, repousando nas coxas. Bichanam mais preces para afugentar o mal ‑ nesta ceifa só por praga, Deus Santíssimo!
‑ Mau‑olhado nesta emposta, prà gente...
Bem poucos escapam, pelo menos à febre lenta; e por muitos alentos que pudessem juntar, os corpos que caíam à esteira lá ficavam uns dias. Era uma força sinistra que lhes derreava a cabeça e os braços; um sono pesado que entrava nas veias e os abatia.
Noutras ceifas ou mondas a malária chegava sempre a um ou outro, a modos como tributo do trabalho naquelas terras apauladas. Nesta safra, porém, fora um andaço, uma peste.
A Ti Maria do Rosário revolvia‑se no chão, como animal a espumar de raiva. Caído para a nuca, o lenço soltara o cabelo ralo e já trilhado de branco, que lhe vinha cair sobre o rosto mais cidroso ainda, donde emergiam as maçãs redondas, cerzidas de rugas. Levava as mãos ao peito, agatanhando‑o com os dedos. E subia‑os depois à gorja agitada, como a querer rasgá‑la e dar‑lhe frescura.
A aguardente com canela que lhe haviam dado deixara ali rasto profundo da sua passagem. Parecia‑lhe que a tinham obrigado a engolir fogo, fogo que devastava toda a poisada em labaredas e donde não podia sair. Erguia a cabeça, mas logo a vinham puxar e atar à esteira com as braças dos rolheiros. Sentia um joelho nos seios, só pelangas, e duas mãos a apertá‑la com gana, deitando‑a ao chão. Abria os olhos e via o aposento em chamas. Fechava‑os e estava na lavra, no meio da resteva, entre os rolheiros de arroz.
‑ Eu não sou!... Eu não sou!... ‑ ciciava com pavor. Eram esses gritos que os companheiros ouviam lá fora. Bem desejavam os homens ficar lá em baixo, nem que
fosse ao relento, ao pé das éguas. Aos gaibéus, porém, não se consente entrada nas motas do gado. Os gritos da velha cravavam‑se na cabeça, como lanças afiadas brandidas por mãos firmes. E os homens voltavam para junto dos outros, sentados entre as mulheres, ou isolados pela linha do arrozal adiante.
‑ Eu não sou!... Eu não sou!...
Os seus apelos tornavam‑se mais estridentes e dolorosos do que nunca. A companheira que tomava conta da doente não os ouvia agora, porque já se lhes habituara e eram como o agatanhar do vento no carroicil ou o coaxar das rãs e a cega‑rega dos grilos.
No meio do seu delírio, a Ti Maria do Rosário vira o feixeiro aproximar‑se‑lhe, de forcado em riste, carregar rolheiros na carreta, e forquilhara‑a também, arremessando‑a para cima dos molhos. Clamara e o carreiro não a ouvira. Consertara‑a entre os rolheiros, como se ela fosse um rolheiro também. O baraço apertava‑a e o fogacho do sol tinha‑a tostado. E era o lume do sol que lhe corria na gorja e no peito, em labaredas altas.
Conseguira agatanhar por entre os taipais para gritar aos homens que ia ali por engano. Não pudera dizer‑lhes, porque o feixeiro dera com a sua cabeça e metera‑lhe aos olhos o bico do forcado, talvez com receio de que ela caísse da carrada.
Tilintavam os guizos das coleiras dos bois e a carreta gingava, a caminho da eira. Ouvia o resfolegar da locomóvel e o passar das correias nos tambores; o matraquear dos batedores e o agitar do crivo.
Gritava sempre com desespero, mas ninguém a ouvia.
Levava as mãos ao peito, como a querer rasgá‑lo, para poder gritar mais alto. Os outros que não a ouviam, certamente porque a boca não dizia os rogos do seu pensamento. E assim, talvez a fossem tirar dali e a levassem para junto deles.
A carreta parou e o barulho da eira fez‑se mais forte do que nunca. Assemelhava‑se a um terramoto ‑ se o mundo acabasse, seria assim.
E rezou em voz alta.
Os companheiros não a ouviam ‑ nem Deus.
De novo o forcado lhe pegou, atirando‑a à meda. Vieram molhos e molhos para cima dela. Não podia falar, nem abrir a boca para encher os pulmões. Clamou em pensamento. Sentia que os seus brados atravessavam a meda de arroz e se dirigiam aos eirantes.
O eco não repercutia. Ainda se os homens parassem as máquinas. Mas na eira não havia lugar para escutar as suas queixas.
Desenganada, esqueceu‑se de si, adormecendo no conchego das espigas e das canas dos pés de arroz. O baraço não a esmagava agora. Sentia‑o como um abraço amigo que lhe balbuciasse, em sussurro, consolações e esperanças.
Já ficava longe o matraquear das máquinas e dos volantes, dos tambores e das correias. Tudo longe dali, daquele berço fofo onde o corpo dormitava sem conceber pensamentos.
A companheira não cessava de afugentar as moscas com o lenço. A velha parecia mais calma e não desafiava as rãs com os seus gritos. Os outros alugados não sentiam o frio estranho a corrê‑los, como se o sangue se substituísse por angústias.
Noite sem vento, com a brisa a raspar as unhas no carroicil. No manto negro do céu, as estrelas mal se acendiam.
«Que horas seriam?... Lá estavam as esteiras para o repouso dos corpos. E não podiam repousar, porque as cabeças estavam despertas, embora os olhos se quisessem cerrar e os braços pendessem.»
Novos gritos na noite. As rodas de ceifeiros cingiram‑se mais. Entre arrepios de medo, ouviram‑se preces bichanadas.
As mulheres levavam os molhos para o fraseal e ela tinha despertado.
‑ Eu não sou!... Eu não sou!...‑gritava de novo.
No mesmo vaivém, os romeiros iam da meda para o fraseal e depois para os ganchos dos forcados. Ninguém parava a escutá‑la ‑ nem as mulheres, nem os forcados, nem as máquinas. Tudo a galope.
Ficara agora no coruto da meda e podia fugir pelos campos além. Tentou erguer‑se, mas o baraço era de novo grilheta.
Os companheiros vieram então e ataram‑lhe um baraço de sol, como se fosse um molho. As máquinas não paravam. Os eirantes também não.
‑ Eu não sou!... Eu não sou!...
A cachopa que a levara nos braços, a caminho do fraseal, era a Adelaide, bem a conhecia. Até aquela, que tinha visto nascer e acalentara ao peito, não se compadecia de si.
‑ Ó Adelaide!... 'delaide!...
‑ Estou aqui, Ti Maria, que é que quer?... E as lágrimas caíam‑lhe pelo rosto.
Mas ela não ouvia a fala, nem lhe via as lágrimas.
A Adelaide ficara surda ao seu apelo e cantarolava, levando‑a para o fraseal.
Também aquela!...
Quis espernear para que lhe sentisse o corpo, pôde deitar a canhota de fora do baraço e sacudir‑lhe o ombro. A outra não se voltou nem se deteve.
‑ Ó Adelaide!... 'delaide!...
E a maldita atirou‑a para o fraseal, como se fosse um rolheiro de arroz. E lá foi buscar os outros, cantarolando e rindo.
A velha sentia agora mais perto o abalar da debulhadora, no tremelicar da ciranda e no bater das costelas, no cavalgar dos batedores e no ferir das correias nos volantes.
O seu corpo encostava‑se aos pés do feixeiro e via‑lhe o suor a correr no rosto, as narinas a dilatarem‑se e a boca a arfar, como a válvula da locomóvel. Ouvia, melhor ainda que o ruído das máquinas, os gemidos de ajuda que soltava, quando erguia o forcado à caixa do batedor.
Gemeu também para lhe dar força. Esqueceu‑se da sua condição de rolheiro e assim ficou.
Era o que a companheira ouvia, sacudindo as moscas à sua volta.
Pela linha fora, os homens cabeceavam, mas não iam para a poisada. O repouso não morava ali, como não vivia nos seus espíritos. Até os três alugados que tinham ficado na esteira com sezões vieram sentar‑se na linha, embrulhados nas mantas. Só as crianças dormiam. O Malpronto, o Nove e o Caraça lembravam‑se dos quatro companheiros, como da recordação de um passado distante.
Todos entregues aos gemidos adivinhados e à indiferença da noite. O coaxar das rãs minava‑lhes o desalento.
Um homem ergueu‑se, apanhando pedras do chão, e foi atirá‑las para que as rãs se calassem. Ali fez‑se silêncio, mas ficaram os grilos. E quando o homem voltou, desiludido, as rãs coaxaram num coro maior, como em gargalhadas de mofa.
Uma criança estremeceu com os alugados e acordou. E pôs‑se a chorar. A mãe não lhe deu embalos, porque o choro alto do filho era como o eco da sua angústia.
‑ Eu não sou!... Eu não sou!...
O feixeiro reparara no rolheiro que estava aos seus pés e enganchara‑o no forcado, atirando‑o, num impulso, aos braços de um dos desatadores.
Tudo lhe estremecia à volta. Dali via os campos melhor ainda. Planos, sempre planos, com empestas dispersas e árvores isoladas. Tudo mais longe naquela planície triste. Tão longe que ninguém a ouvia ‑ tão triste que as suas súplicas voltavam a si mais desalentadas.
O desatador tirou‑lhe o baraço e o seu corpo esparralhou‑se‑lhe nas mãos. Também aquele não a ouvia.
E passou‑a para os braços do aumentador, que a esfarripou com os dedos e foi atafulhando a caixa do batedor com o seu corpo. Despenhou‑se, por fim, no abismo donde via as costelas a passarem sempre de freio tomado. Gritou ainda numa última súplica. Os companheiros não a escutaram e talvez as máquinas a compreendessem.
Quis gritar mais e já não soube. As costelas riparam‑lhe o corpo, desfazendo‑o. O cérebro ficara a um lado, com os seus pensamentos em clamor, mas a garganta estava triturada e não podia levar os gritos que o desespero lhe dizia. Os olhos, como dois bagos grandes, viam ainda, embora saltitassem para a ciranda.
A companheira viu‑a mais sossegada e foi à porta. As sombras tinham aquietado lá dentro, na poisada. Muitos companheiros dormiam já, enrolados no chão como cães. Um grupo estava ainda de atalaia, a conversar silêncios.
Noite mais calma. Estrelas quietas e mais vivas. Sempre o coaxar das rãs e o zangarreio dos grilos. Tosses secas e curtas.
Quando a viram, duas mulheres ergueram‑se e correram para ela.
‑ Como vai?...
‑ Na mesma.
‑ O remédio do Peralta não lhe fez bem...
‑ Estou na minha que aquilo não tem nada de sezões. Algum mau‑olhado.
‑ Hum!...
‑ Não me custa a acreditar.
‑ Mau‑olhado porquê?...
‑ A gente sabe lá. Alguma coisa da mocidade que lhe caiu em velha. Isto de maus‑olhados e pragas não caem logo. Olha a Glória!...
Volveu os olhos para o interior do aposento e recomeçou a conversa.
A brisa não beliscava o carroicil. Os gemidos da doente eram mais brandos.
‑ Se o patrão a metesse no hospital...
‑ Ah, mulher! Credo!... Nosso Senhor lhe desse outra sorte!... Médicos e guardas, nem de barro à porta.
‑ Eu cá estou na mesma.
‑ Sempre tinha outros cómodos e quem cuidasse dela. Aqui é que não se aveza saúde.
‑ Aguardente com canela tem posto muita gente arriba, deixa lá. Isto de estar assim é bom sinal.
‑ O que arde cura. Tenho fé que amanhã...
‑ Mas é capaz de não ser só das sezões...
A doente voltou a revolver‑se na esteira, atirando a manta para o fundo da poisada. E deixou cair as mãos pelo peito até às coxas. A companheira foi tapá‑la, passando‑lhe o lenço pela testa ensuada. As outras regressaram ao grupo, a cochichar.
‑ Ó Adelaide!... 'delaide!...
As mulheres voltaram ao recolhimento das preces. Só as crianças dormiam, abrindo sorrisos nas boquitas descoradas.
O sono afasta‑se ‑ fica a angústia. Angústia que entenebrece a noite. Na sua noite não há estrelas a cintilar. Ficam os gritos de uma companheira.
‑ Está como doida, coitadinha! Nosso Senhor nos acuda!
‑ Mãe Santíssima!.
VOU‑ME EMBORA, DEIXO O CAMPO...
O Agostinho Serra entrou e encontrou‑a a chorar. Passou do outro lado da mesa e foi abrir a janela, donde se via o rio. Nas tejoleiras gastas e gafadas de nódoas, o tacão raso do botim ficou a matraquear a sua impaciência.
Tarde de Outono. Barcas de avieiros de velas desfraldadas, em viagem, ou a remos, no lançamento das nassas. Uma brisa fresca acariciava‑lhe o rosto e passava no caniçado da outra margem dando‑lhe ondulações de oiro velho e cromo.
Da eira chegava embrandecida a azáfama das máquinas e dos homens. A ceifa acabara. Os gaibéus iam partir ‑ não havia ali mais trabalho. Por Isso ela chorava. Ela já não era a Rosa do rancho do Francisco Descalço, mas a Balbina da Rua Pedro Dias, que vendia afagos a quantos por lá passavam e a desejassem. Sentia‑se agora incapaz de resistir aos rogos do João da Loja. Depois desse seriam os outros ‑ todos os outros que precisavam de serventuários no amanho das terras.
Quando o rancho chegasse, logo na aldeia se saberia que ela estivera no aposento do Agostinho Serra. E via‑se interrogada pela mãe, a duvidar ainda do que se cochichava entre a vizinhança. Rua abaixo, cabeças surgiriam em todos os postigos. E ficariam depois a falar na novidade.
«‑ Quem haverá de dizer, Ti Rita.
‑ Foi morrer longe, aquela, Deus louvado.
‑ Com uma carinha de sonsa...
‑ Fugir dessas! Coitado do Tóino, na militança, e a sem‑vergonha por lá...
‑ Não quebrava um prato, sempre de olhos prantados na terra, sempre embesoirada se alguém lhe largava graça. Aquilo era presunção a mais.
‑ São as piores, Ti Rita. Tola não foi ela, não. Que o patrão havia de lhe chegar do bom para ter um palminho daqueles. E sentida como era...
‑ Aquilo fazia‑se esquerda à espera de pássaro graúdo.» Quem havia de falar ao Tóino, tão enfeitado em tê‑la por conversada?
‑ Dá em doido, o moço ‑ diziam as mulheres.
Ela via‑lhe os olhos mordidos de ira, a quererem procurar culpas nos seus. E as suas mãos rijas e puras, nunca negadas ao trabalho, oprimiriam as suas com desespero.
Viria depois o João da Loja, todo sorrisos, a oferecer‑lhe mimos da horta e da salgadeira. E ela sentia que não poderia agora afastá‑lo de si, recusando‑lhe as carícias bem pagas. Ela caíra no pego das mulheres da Pedro Dias e ninguém lhe dava a mão para se salvar.
«‑Aquela barroa parece a Balbina, ó Maria!...»
Ela era a Balbina, que oferecia sorrisos sempre iguais e sempre falsos.
O Agostinho Serra continuava a sacudir a perna na mesma impaciência.
Chorou mais. As lágrimas faziam‑lhe bem ‑ parecia‑lhe que a limpavam daquela mancha.
‑ Então isso não acaba, rapariga?... Que diabo! Pôs‑se a passear na casa, a passos largos, de polegares
nas axilas, a assobiar baixo. Não ouvia o ruído das máquinas e dos homens na eira.
«Que demónio de seringação. Estava servido se todas as mulheres fossem de forma assim. Baba e ranho por uma coisa daquelas. Ainda se ele não tivesse repartido, vá lá, com seiscentos diabos. Mas assim... Que ela bem merecia, sempre tão envergonhada que aquilo parecia coisa nova em cada dia.»
Estacou no meio da casa, com as mãos apoiadas nas costas de uma cadeira, para não ouvir mais a sarrazina dos botins a ranger ‑ piores ainda, os malditos, do que a carpideira da rapariga.
‑ Quem te vir assim julga que morreu alguém, mulher!
Ora tu!...
Foi até ela e passou‑lhe a mão na cabeça sacudida pelos
soluços.
A rapariga repudiou‑o num meneio brusco e continuou levando a ponta do avental aos olhos. Ele sorriu‑se e desejou‑a mais.
‑ Que ficavas cá a fazer!?... Toda a gente falava e nunca te livravas da fama. Vais até lá acima e quando for preciso rancho, cá estás. E eu não me esqueço de ti, Rosa...
A Maria Gadanha estava lá para dentro no arranjo do jantar. Ouvia‑se o bater do esmalte e os seus passos. Os desejos invadiram‑no. Tudo aquilo o despertava.
Sentou‑se‑lhe ao lado e aconchegou‑a nos braços. Ela não sabia se eram do Agostinho Serra, se do João da Loja, se de outro qualquer.
Quis erguê‑la, arrastando‑a naquele abraço sem fim.
O corpo dela pesava e ficara mudo aos seus rogos. Beijou‑lhe o pescoço e depois a face. Ela repudiou‑o e escondeu a cabeça no avental. ‑ Então, mulher?...
Apeteceu‑lhe tratá‑la por amor e acarinhá‑la longamente. Prometer‑lhe tudo que ela quisesse, embora lhe faltasse depois, Parecia outra qualquer que estava ali ‑ era sempre uma nova mulher em cada hora. Por isso ele a desejava agora, como no dia em que a encontrara na ceifa, a esconder o olhar, Puxou‑a mais para si. Ela, porém, resistiu‑lhe. Irritado, voltou à janela a entreter a vista nos longes. O ruído das máquinas e dos homens na eira crescia‑lhe nos ouvidos. Nas tejoleiras, o salto raso do botim marcava a impaciência da sua carne.
Na manhã do dia seguinte o rancho abalaria. Queria lembrar‑lhe nas suas carícias as horas passadas.
Mas o corpo dela não tinha memória para os carinhos das suas mãos. Os afagos não lhe traziam outras recordações que não fossem as da Rua Pedro Dias. Ela sabia que se perdera para o mundo e não era a mesma mulher vinda à emposta para ganhar o sustento. Tinha no saco mais 1 dinheiro que as companheiras e não o juntara no sol a sol da ceifa. O Inverno não a atemorizava pela penúria. Teria pão esse ano e a mãe não andaria pelas portas a receber restos. , Mas via‑a abatida a um canto da casa, sem alentos para ir à água, porque ela estivera no aposento do Agostinho Serra e traíra o Tóino ‑ um pedaço de rapaz mais lavado que os ares do monte.
Sofria mais por ele do que por si. Aquele homem aparecia‑lhe como um estranho. Não chorava o passado, pois parecia‑lhe ainda que entre eles nada houvera.
Não lhe ficara uma recordação. Aquelas mãos que a procuravam vencer eram‑lhe tão desconhecidas como as do João da Loja ‑ a atraí‑la, a repetir‑lhe promessas. Ela sabia bem para onde caminhava ‑ não via outra estrada para seguir na vida. A tantas outras sucedera o mesmo e arranjaram lar ‑ tinham marido e filhos.
Mas aquele fim de rua tão triste, a serpear como em tortura, era o seu futuro. Não seria Rosa o seu nome ‑ chamar‑lhe‑iam Balbina.
A porta rangeu e deixou passar a Maria Gadanha. O patrão saiu, mastigando insultos. Na eira continuava a azáfama dos homens e das máquinas, expressa em gritos e ruídos.
A outra andou pela casa sem encontrar pretexto. Depois, sentou‑se‑lhe ao lado e falou. Falou como no primeiro dia.
«Que parecia uma tola em pensar naquilo. O Agostinho Serra era um homem de palavra e ainda havia de lhe pôr casa. Tomara ela um futuro assim.»
Chorou mais. E não se lembrou do homem que a possuíra. Ele se confundiria com os outros todos que passassem depois. Mas aquela voz entaramelada e rouca não a abandonaria mais. Era a mesma que na feira de Santa Iria lhe lançara o signo.
‑ Olha aquela barroa parece a Balbina, ó Maria!...»
Na sua vida ficaria sempre aquela voz. E a figura mirrada e seca da Maria Gadanha a levá‑la pela estrada do seu destino, com promessas de entontecer quem pelo Inverno não tinha pão nem lume na lareira.
O rancho partia amanhã; cada alugado para o seu destino. Ela sabia o seu e não podia desviá‑lo. Viriam espreitá‑la às portas e maldizer‑lhe a sina. E se dissesse que o seu corpo sempre ficara mudo aos rogos daquele homem não a acreditariam nunca, porque em sua vida não tinham encontrado uma Maria Gadanha a ciciar‑lhes promessas, numa voz entaramelada e rouca.
A Rosa do rancho do Francisco Descalço morrera naquele dia de ceifa, na maracha onde estava o Agostinho Serra, e ali ficara entre malvas, almeirões e mentrastes.
As foices estavam paradas, de rolha no bico, ao abandono, pelos cantos da poisada. Na vala de águas mortas, algumas cachopas batiam roupa, estendendo‑a depois no telheiro baixo do quartel, nas tabugas ou no canavial. Sem cuidados de trabalho, os corpos estendiam‑se nas esteiras ou no chão do carril. Outras mulheres cuidavam de roupas ou catavam‑se. As velhas em abstracção. As cachopas com promessas no olhar para os rapazes que lhes rondavam a saia. As crianças, de sexos destapados, rostos e mãos lambuzados de terra e comida, a pairarem às mães.
Labaredas a lamberem as caldeiras penduradas nos arames dos cambarichos.
‑ Quem se livrou desta, bem pode dar graças.
‑ Bem pode!... Bem pode!...
‑ Ceifa danada, que não deixa penas.
Pelas portas da poisada os alugados cruzam‑se na preparação dos arranjos.
Amanhã é abalar para a vila e tomar o comboio da noite. Os homens combinam patuscadas de pão e linguiça nas tabernas. O vinho há‑de correr bem. Têm saudades daquele companheiro que lhes mata o desalento.
Os ceifeiros mais sezonados movem‑se lentos, busto curvado e braços pendidos, sem alma. Tossicam e escarram. Nos rostos amarelos, como se o cromo das espigas cortadas se lhes tivesse infiltrado, correm amarguras.
Não os arrasta a mesma alegria dos que atafulham os sacos, lestos de movimentos. Há mulheres que cantam. Há bocas que riem. Mas nas bocas daqueles a febre escalda e chagou‑lhes os lábios. As palavras raras que proferem parece que têm a luz do dia ‑ são sussurros vagos mal articulados. E sentam‑se, de quando em quando, a recobrar vigores. Ficam a arfar, peitos débeis como em soluços, com suores a cobri‑los. As mãos tremelicam como as tabugas da vala e os ramos do salgueiro franzino.
‑ Estás que nem um ramo, ó Jacinta! Naquela carita afilada só os olhos negros ganham expressão ‑ expressão triste. Os olhos ali dominam, como único sinal de vida.
Dois rapazelhos puxam por um cavaco, a mãos ambas, caras avermelhadas pelo esforço e pela ira. As mães espreitam‑nos, mirando‑se em sorrisos. Alguns param na sua azáfama e ficam a vê‑los. Pairam um com o outro, cambaleando nas pernas cambaias e finas. Na fúria de se vencerem, cai cada um para o seu lado, de mãos vazias. Fixam‑se mal‑‑humorados e largam num berreiro sem lágrimas.
Os alugados riem. As mães vão buscá‑los e dizem‑lhes carinhos.
‑ Meu rico menino!... ‑ Meu rico filho!...
As gargalhadas aumentam. Os dois respondem‑lhes num choro mais gritado.
Nas bocas dos sezonados não há lugar para risos. O ruído agiganta‑se nas suas cabeças e repercute‑se pelo corpo, como , num casarão deserto, afadigando‑lhes os nervos lassos.
Tudo volta ao arranjo dos seus amanhos. O lume vai aferventando as caldeiras. As mulheres podem desvelar‑se na comida. Cada qual trata da sua marmita. O feijão leva mais azeite, que é ceia de despedida e querem festejar a volta a casa. Se houvesse ceifa todo o ano, melhor seria. Não pensariam tanto no Inverno e nos dias parados. Mas o retorno à terra é sempre bem acolhido, mesmo que horas depois da chegada anseiem sair de novo.
Ainda se bate a roupa na vala. As rãs não coaxam aqui. O barulho dos alugados afugentou‑as para lá do salgueiro que fica na curva.
Há corpos a dormitar ao sol.
Na eira, as máquinas pararam. Homens e mulheres labutam ainda. Estão lá cinco alugados daquele rancho.
E os companheiros não os invejam, porque a tarde corre de conta deles; amanhã tudo abalará até ao Cabo. O Agostinho Serra, se quiser carregar o arroz, terá de fazer o trabalho com rabezanos e moços de saco.
‑ Ceifa de sezões...
‑ Mesmo assim foi trabalho. E na casa deste home quem não trabalha não come.
Um deles passa os dedos pelas feridas dos lábios e tem um sorriso amargo.
‑ Isto é assim. Um papa os figos e à gente é que rebentam os beiços.
O outro sacode a cabeça e fica‑se a olhar o horizonte, como procurando ali a redenção da malta. Planície e céu ‑ céu e planície.
A planície devastada nas restevas curtas, nas manchas dos poisios e no revolvido dos alqueives, sempre monótona como um deserto. Valas extensas e abertas onde as águas fazem charco e os boqueies remijam humidades infiltradas na terra. Veias onde a vegetação daninha é mais exuberante e as copas das árvores se vêm rever no seu espelho verde‑‑barrento. O céu a trazer o Sol no seio das nuvens ‑ de arminho umas, de cinza outras.
É por isso que a solidão se avantaja e escorre para o alugado que se ficou a olhar o horizonte, como a procurar ali a redenção da malta.
O homem esquece‑se de si e estiola naquele olhar vencido.
Não houve estrela que se não acendesse no luzeiro daquela noite. E piscam muito, como se saltitassem alegrias ao saber da partida dos gaibéus. São estrelas de rabezanos, aquelas ‑ mas também não se compreende tanta festança, pois os gaibéus não deixam trabalho por fazer.
O céu está crivado das suas pontas doiradas ‑ miúdas que nem missanga. A Estrada de Santiago aparece polvilhada como em noite de Agosto. Há uma estrela que corre e se lança no rio.
As estrelas brincam. Desafiam os rapazes. Agora são seis. Seriam sete se o Marrafa lá estivesse. Amanhã ficarão só quatro. O Nove, o Malpronto e o Caraça partirão ao sol‑‑posto do outro dia ‑ são gaibéus e não podem ficar. A ceifa acabou e não há lugar para eles. Se o patrão os corre, têm vadiagem pelo Inverno fora. Serventia é já trabalho de homem, agora que os afazeres rareiam em cada dia. Nas fábricas de Alhandra os quadros estão cheios e precisam de boa cunha para ganhar féria com descontos. Nos telhais é que às vezes se alcança alguma semana de labuta acesa.
Mas o Inverno toca a todo o lado e nem fruta há nas quintas para fartar a barriga.
Naquela noite o areal não lhes pertence. As estrelas desafiam‑nos para a brincadeira e eles não acedem aos seus rogos. O Marrafa ganhou amores por uma cachopita do seu lote e não veio. Deixaram‑no na mota a molhar a cabeça e a pentear‑se com o pente verde. O Marrafa anda triste. A conversada deixou furtar‑lhe um beijo e tudo vai acabar! sem mais adiantamentos. Um beijo é pouco para os seus desejos. Mais valia não lho ter roubado, pois ficou‑lhe na boca aquele travo doce, e na emposta as mulheres que ficam têm dono e não querem fedelhos.
‑ Vamos ao «primeiro da bela mula»?.'...
‑ Na!... Isso já chateia.
E voltam ao mesmo alheamento, de corpos estiraçados na areia da praia. Ainda se houvesse melões, o Cadete arranjaria maneira de se passar o tempo. Mas nem restos. O ferro da charrua deu volta a tudo e no alqueive nem a passarada encontra sustento.
Para jogar ao alho são poucos. Com um a fazer de mãe ficam cinco, e mais vale dormir à perna solta que brincar assim.
O Malpronto gostava de ouvir o Cadete contar mais coisas do pai, ainda que fossem as mesmas de sempre. Mas o outro não está de maré, pois nem assobia. O assobio é sinal de boa disposição no Cadete. Nenhum como ele sabe fazer repenicados nas marchas e nas valsas. Já um dia lhes dissera que ainda havia de tocar música num cornetim de prata. Os três gaibéus não sabiam bem o que isso era, mas devia ser coisa bonita, pois o Cadete não se satisfazia como qualquer ‑ filho de campino bom com história na Lezíria, ele pescava disso como nenhum outro.
Naquela noite o Cadete não assobia e o Passarinho não fala das suas gaiolas com campainhas. O Forneças não trouxe bocados de jornal para ler as letras grandes.
As águas do Tejo estão brandas. Mal farfalham na praia. Começa a ouvir‑se o toque de um harmónio numa músicamal definida. O Cadete apura o ouvido, levantando a cabeça. Os outros erguem o busto também. Os sons não se encordilham ‑ chegam dispersos e a melodia não toma forma.
‑ Vamos lá ‑ aventa o Caraça.
‑ Ora!... Pra quê?...
‑ Sempre se mata a vista.
‑ Vão vossemecês, se querem. Ver os outros esfregarem‑se...
O Forneças ri. Os três gaibéus também, pois já percebem a intenção daquela palavra. O Cadete pede silêncio.
Nem atendeu à graça do Passarinho, pois não há maneira de perceber a música. Aquilo enerva‑o. Deixa‑se cair na areia e cerra os olhos.
Até o Marrafa, que está a dois passos do tocador, não há‑de ouvir bem. Dançará por palpite, ao som vertiginoso dos seus desejos gulosos de mulher. A cachopita vai aperreada nos seus braços e no seu peito largo. E arrastá‑la‑á para além da roda da luz, para lhe beliscar o seio endurecido de virgem e lhe furtar beijos.
O Marrafa não se lembra dos companheiros, nem ouve a música como o Cadete. Mas não se enerva por isso e não cerra os olhos. Leva mulher nos braços, e isso é melhor que ouvir música. A cachopita vai toda vaidosa com o requesto. Amor de rabezano, e rabezano galhardo, é amor de rifa. São muitas as mulheres e eles poucos. Mas calhou‑lhe aquele do seu lote e bem sente as suas mãos a procurarem‑lhe o peito.
Amor de rabezano é amor de rifa.
A quem calhar não o largue, que eles são como o vento.
O meu amor é da vila e mora ao pé da cadeia.
Mais vale um amor da vila que vinte e cinco d'aldeia.
Cantiga certa, a da mulher do abegão. Bem importavam os beijos e os safanões, se o amor dela era da vila.
Mais vale um amor da vila que vinte e cinco d'aldeia.
Os companheiros, se o vissem, é que não gostariam daquilo. E o Forneças chamaria «felosa» à cachopa, se os encontrasse tão pegados.
Lembra‑se dele e vêem‑no a mirar‑se no espelho de flores amarelas e vermelhas. O Caraça não se importava de estar no bailarico e ter cachopa. Mas é gaibéu e não comprou pente verde, nem espelho de flores amarelas e vermelhas. Mesmo assim, se os outros não o atazanassem com ditos, iria até lá. Aquela pasmaceira, sem «primeiro da bela mula», nem histórias, pouco apetecia.
O Passarinho descalçou‑se e foi pelo areal em direcção à água. E gritou aos outros:
‑ Eh, pá!... 'tá tão morninha!.
O Forneças e o Nove foram experimentá‑la com as mãos. E depois deitaram a correr na areia. ‑ Tão morninha, pá!...
O Cadete foi o mais tardio a despir‑se. Mas os outros, em pelão desafiaram‑no para o banho. As roupas ficaram em monte, no valado.
‑ Vai amostra!... Vai amostra!... ‑ gritou o Forneças. Os cinco deitaram a correr atrás do Nove para o agarrar.
Mas ele gingava‑lhes o corpo a um lado e escapava‑se pelo outro.
Soprava uma aragem fresca. A correria encalmara‑os.
‑ Vai amostra!... Vai amostra!
As estrelas não brincavam tanto. Praia acima e abaixo, os seis não paravam. E o Nove furtava‑se sempre, porque o Cadete e o Malpronto o iam protegendo, fingindo não poder agarrá‑lo.
A água parecia que nem tocava a areia. A música do harmónio desaparecera de todo. O Cadete assobiava uma marcha que ouvira numa tourada da feira, encostando o polegar ao queixo, como se tocasse no cornetim de prata.
A aragem fresca encrespava‑lhes os corpos. Meteram à água.
‑ Tão morninha, pá!...
O Forneças alargou‑se para diante e mergulhou a cabeça, voltando a reaparecer mais além ainda.
‑ Tens pé aí, pá?...
‑ Se não tivesse pés, não nadava.
‑ Se bates no fundo...
‑ Nem que tivesse a vara do maioral dos bois... Foi‑se chegando aos outros para os não afoitar.
‑ Anda lá se me queres dar trabalho, ó Caraça mal ' feita!...
Tremelicavam os queixos pelo correr do nordeste. O Nove já saíra da água, todo encolhido, a esfregar‑se com os braços cruzados no peito. Os outros ficaram ainda de mãos dadas, a formar roda, baixando‑se à uma até a água os cobrir, Quando se erguiam, imitavam gargarejos e gritavam para a praia:
‑ Eh, Nove..... Eh, Nove!... «Nove, quem padece é o pobre.»
Pensava, mas não se entristecia. Deu‑lhe veneta de fazer partida, levando‑lhes a roupa. Ainda a agarrou e ergueunas mãos, clamando‑lhes. Os outros tomavam jeito de sair da água, para lhe irem no encalço. Largou‑a e correu para eles. Quando chegou a boa distância, agachou‑se na praia e atirou‑lhes areia a mãos ambas.
‑ Eh, pá!... Eh, pá!...
Quando se fartou, sentou‑se no valado. Então, os outros saíram e vieram vestir‑se.
‑ Cá fora está griso, ha!...
‑ Fora, bode!...
O Forneças puxou das mortalhas que passara da caixa do maioral e enrolaram‑nas com barbas de milho. Acendeu o isqueiro de pederneira e passou‑o de mão em mão.
Ficaram seis estrelas a brilhar na praia. Amanhã seriam só quatro. Os três gaibéus não tinham trabalho. O Marrafa viria para ali, porque a cachopita franzina abalaria também com os três companheiros.
Um silvo de comboio fendera o silêncio, rasgando a noite como um raio.
‑ Vossemecês, naturalmente, vão naquele.
Os três vêem o comboio a levá‑los noite adiante... Vieram rapazes ‑ voltavam homens. Teriam saudades da Menina e dos quatro rabezanos. Sempre que fumassem barbas de milho, aquilo já era vício, se lembrariam deles. Ensinariam o «primeiro da bela mula» e «lá vai alho» aos outros rapazes.
Não tinham comprado os barretes ‑ com féria tão escassa... Mas recordariam sempre os companheiros da Borda d'Água.
O silvo do comboio apagou‑se e o silêncio voltou. Parecia que era maior o silêncio. Seis estrelas a brilhar. As do céu brincavam agora. Tinham azougue como o Nove.
‑ Ó Cadete!...
‑ Ha!...
‑ Se tu fosses capaz...
‑ Se calhar, não sou.
Pausa larga. Seis estrelas a brilhar na praia.
‑ Diz lá o que queres, homem!
O outro ergueu a cabeça e abriu um sorriso franco.
‑ Se contavas uma história...
‑ Qual?!...
‑ A do campino...
O Cadete atirou fora a ponta do cigarro, consertou as pernas na areia e começou.
Os outros deitaram a cabeça nas mãos espalmadas e ficaram‑se a ouvir.
Era sempre igual aquela história, que dizia sempre coisas novas. O Cadete era outro agora. Todos a sabiam de cor e ouviam‑na como uma história sempre estranha. Os três gaibéus haviam de contá‑la aos rapazes da terra, mas nunca o fariam com as palavras sentidas do Cadete. Ele vivia‑a, como se falasse de passos da sua vida.
O luar viera envolver o companheiro. O Tejo calara‑se ‑ talvez a escutá‑lo também. As estrelas tinham perdido o azougue. O Malpronto mirou‑as e reparou no seu feitio. As estrelas pareciam esporas. O campino bom, que se fizera ladrão, levara‑as consigo para o céu. Eram as suas esporas de oiro que lá de cima refulgiam na noite.
Quando o Cadete acabasse, contaria aquela revelação. E então a história acabaria de outra maneira.
Morreu que nem um valente. Aqui, na Borda‑d'Água, todos se lembram dele. E as noites passaram a ser mais bonitas, porque ele levou para o céu as suas esporas, que se fizeram de oiro, e brilham agora como estrelas.
Não lhe importava o cheiro que empestava a poisada nem o ressonar dos companheiros. Não era sequer o coaxar das rãs que o não deixavam pregar olho.
Mas aquela ideia.
Lutara toda a noite para a vencer. Ainda se pudesse voltar o corpo e revolver‑se na esteira, talvez conseguisse atirá‑la para longe. Mas assim...
Deitado ao cutelo, entre dois camaradas, ficara aquele pensamento a espevitá‑lo toda a noite sem uma quebra. E a manhã ainda não entrara pelo carroicil e pelo zinco da cobertura.
Pior que um febrão, semelhante ideia. Coisa de emparvecer um homem.
Uma voz disse palavras sem trambelho e calou‑se logo. Julgou que lhe falavam e alteou a cabeça, sem se voltar. Só os ressonares continuaram a conversa. Arreou o busto na esteira e os olhos cerraram‑se. Ao seu pensamento não chegava o sono. Ainda se os companheiros o deixassem ficar de costas, poderia esmagar aquela ideia. Mas os dois aperreavam‑no como em segredo de prisão, e não conseguia atirá‑la para longe de si.
Se não fosse julgar‑se doido, diria que eram eles a ideia em pessoa, a apertá‑lo com os seus corpos. Ou antes o contacto do suor e da respiração deles que o não deixavam repousar. De repente, deu‑lhe vontade de gritar. Se gritasse, os companheiros pensariam que entrara no delírio de alguma sezão. E ele não queria isso, não. Mas também não desejava que adivinhassem a sua tortura.
Sentiu‑se alquebrado, com dores a ralarem‑lhe os pulmões. Membros lassos e entorpecidos. O ressonar dos outros entrava‑lhe nos membros e abatia‑os. Ainda se adormecesse o pensamento...
Amanhã, o comboio em marcha. Apitos pelo caminho, como se fosse ele a gritar.
Talvez ficasse aliviado de tudo se apitasse como a locomotiva. Imitar o comboio é coisa de rapaz. Mas ele não o imitaria por brincadeira. Pensa que o seu silvo é como o grito de alguém que sofre. Ele sofria e não podia gritar.
Os companheiros diriam que estava no delírio de alguma sezão.
Dentro do comboio não se ouviam coaxares de rãs e crícrilares de grilos. Só apitos e matraqueio de rodas. Conversas e cantigas de bêbedos. Se ali perto houvesse vinho, iria beber até cair. Repousaria então. Seria pior se lhe viessem vómitos. Não, pelo contrário, talvez até fosse bom. Vomitaria aquela ideia e o sono viria logo. Restevas e poisios não embebedam ninguém.
Paragens em estações por essa linha fora. Gaitas, apitos e silvos. O comboio outra vez em marcha. Se pudesse, havia de deixar o comboio esquecido numa estação qualquer.
Os jornais diriam que o comboio se perdera. E quando lhe perguntassem por ele, encolheria os ombros.
‑ Eu sei lá!... Sei lá disso... Por aqui não passou...
Só sabia um remédio: abalar. Isso resultaria melhor para o outro: deitava a mão mais ligeira ainda para as terras da penhora. Abalar era fugir. Talvez... Fugir era vergonha. No fim dava tudo no mesmo. Sim, vendo bem, tanto importava dar‑lhe na cabeça como na cabeça lhe dar.
Se as coisas fossem como antigamente, que vergonha era roubar... Vamos lá! Mas não roubara nada, antes pelo contrário. Infelizmente. Isto andava tudo trocado... Vergonha agora era não saber fazer mão baixa.
Os outros ressonavam ainda. Gente feliz! Se andassem com uma carga das suas no lombo, não dormiam assim, não.
O companheiro que lhe ficava por detrás deixou cair a cabeça para as suas costas e disse qualquer coisa. Sacudiu‑o a safanão e o outro compôs‑se.
«‑ Seu Emílio...»
De chapéu na mão e olhos nas biqueiras dos sapatos, diria tudo ao outro. E o quê?!... Queria falar e o colarinho esganava‑o. Se não fosse por parecer mal, fazia o colarinho em bocados. A ele e à camisa. Que alguém lhe explicasse a serventia dos colarinhos. Só para não deixarem falar uma pessoa.
«‑Seu Emílio...»
Chapéu na mão, olhos nas biqueiras dos sapatos.
«‑Desembucha, homem!...» ‑ diria o outro, estava a ouvi‑lo.
Com um colarinho daqueles, quem era capaz de falar alguma coisa de jeito? Pensaria naquilo, noites e noites. Sabia a encomenda de cor. E agora, chapéu! Era como se estivesse a pedir namoro ao seu Emílio.
«‑ Seu Emílio...»
‑ Trazes o dinheiro todo?...
‑ Todo é como quem diz...
O outro abriu‑se em gestos largos de mãos ‑ parecia um milhano a abrir as asas. De homem ficara‑lhe a cabeça. O seu Emílio era milhano completo. As asas a bater e a subir sempre. Já lhe não via a cara branca, esparralhada de carnes. Agora, que ele o não via, desembuchara tudo. Andara a pensar naquilo, noites e noites. Sabia a encomenda de cor.
‑ O seu Emílio sabe bem que o ano foi atravessado. Ruim como seiscentos diabos. Desunhei‑me a trabalhar na courela sem olhar o Sol. Comida engrolada e toca de me ir a ela. Sono, nem raça. Mas quando o tempo não aveza, bem pode um homem matar‑se que as coisas nem por isso medram. O milho deu‑me palha. As batatas ficaram do tamanho de ameixas. Tudo atravessado, seu Emílio.
O milhano descera e voltava com cara de gente. Só as asas não paravam de bater.
‑ Mas que tenho eu com isso?!. Sim! Que tenho eu com isso?!...
«Para que falara naquele diabo, agora que as coisas iam tão bem encaminhadas? Perdera o fio à conversa. Chapéu na mão, olhos nas biqueiras dos sapatos.»
‑ Eu só quero os quinhentos mil réis. E pronto!... Não fui eu que chovi!...
‑ Lá isso. Sim, lá isso...
«Lá isso, gaita. Não havia maneira de dizer outra coisa. Era o que faltava: o seu Emílio a chover. Gordura e tosse. Ainda mais tosse que gordura. Não escapava um bago... Chuva de tosse havia de ser coisa danada...»
‑ Isso arruma‑se bem. Não podes pagar, fica tudo arrumado. Dás‑me a courela...
«Agora é que tinha de falar. Nem que chovesse tosse.» E o milhano a bater as asas mais negras que a noite.
‑ Então o seu Emílio faz‑me uma dessas?!... Tenho trabalhado que nem um moiro, fiz de um tojal um mimo... E agora... Ó seu Emílio... Isso não é coisa de razão!...
‑ As razões não pagam dívidas. Se tens o dinheiro, não se fala mais nisso.
‑ Todo é como quem diz... Deitei‑me até lá abaixo à ceifa e a coisa pouco rendeu. Dou‑lhe tudo o que tenho, seu Emílio. Cento e cinquenta mil réis...
‑ Tu estás doido, com certeza!. Cento e cinquenta mil réis?!... Não te recebo isso.
O milhano bateu as asas e subiu sempre e já não se via a cara de homem. E enquanto o outro se guindava às alturas, ele ia mingando, quase tão rasteiro como o chão. As asas negras cobriram o Sol e fizeram noite. Quis aproveitar a escuridão para fugir, embrenhando‑se numas moitas de carrasco e silvas. Mas os olhos do milhano seguiam‑no sempre e tolhiam‑lhe as pernas.
Um grito na noite ‑ até as moitas tremeram.
O milhano lançara‑se sobre ele e levava‑o céu além, por entre nuvens, no seu bico adunco.
Pensou chamar em brados que enchessem o mundo de angústia. Mas quem o viria socorrer?!...
Ali só havia milhanos, e esses não o salvariam. Deus morava no Céu, mas dormia àquela hora. E a vertigem do voo não o deixaria gritar.
O milhano levava agora no bico a sua courela. Ele ficara sentado numa nuvem a vê‑la ir. Nada lhe restava. Suor de tantos dias e noites. Terra marcada pelas unhas da sua enxada e do seu esforço. Tudo perdido no bico do milhano.
Gritar para quê?!...
Na Terra não o ouviriam e Deus dormia àquela hora.
O suor banhava‑lhe o rosto. Os companheiros não o deixavam beber água. A manhã vinha longe ainda.
‑ Se não fosse aquela maldita ideia...
Levou a mão ao peito ‑ tinha ali as economias daquela ceifa. Tudo para o seu Emílio. O Agostinho Serra ficara com uma parte e a outra seria para aquele. Talvez que o ar da noite lhe fizesse bem. Lá fora havia calma. Levantou‑se, furtando o corpo à pressão dos companheiros. Os dois ficaram a rumorejar insultos.
Já de pé, ficou parado a orientar‑se; a cabeça pesava‑lhe que nem um pedregulho; tinha os olhos cegos na escuridão. Daquele lado estava a porta, bem a via; definia‑se nela o quadro da luz branda da noite.
Encostou‑se à parede de carroicil e foi andando, a tropeçar nos pés dos companheiros, que lhe retorquiam com blasfémias e respirares fundos. Depois a mão fresca da brisa veio afagar‑lhe o rosto e os cabelos.
Abalou pelo carril acima sem destino certo. Andou, nem sabia já há quanto tempo.
A ideia marchava tanto como ele e a sua sombra. Eram três companheiros de jornada. «‑Seu Emílio...»
Chapéu na mão, olhos nas biqueiras dos sapatos. E o milhano a bater as asas negras e a subir, esfrangalhando as nuvens e cobrindo o Sol.
Sentiu‑se cansado. A poisada ficava longe e tinha de voltar. Deixou cair o corpo num combro e meteu a mão na camisa, apalpando o saco do dinheiro.
Aquele contacto dava‑lhe uma esperança. Talvez o seu Emílio lho recebesse com mais algum que deixara na terra. Pagava o resto para o ano com juro de 25.
Tirou o saco para fora e foi passando as moedas nos dedos ‑ decorara‑as de tanto as contar. Setenta e oito e oitocentos. Bem pouco para uma ceifa ‑ o resto ficara para o Agostinho Serra.
Brochados a uma carreta, os bois esperavam o fustigar do maioral para a marcha.
Naquele dia nem quartel se ganha. Os alugados trazem os sacos e as caixas e sentam‑se por ali. Estão como vieram ‑ abstractos e tristes. Uma gaita de esfola‑beiços depenica uma música qualquer.
Os capatazes dão ordens e riem entre si.
‑ Chega‑te lá, ó cachopa!. Não tenhas pressa.
O carreiro volta para a mesa e vai recebendo os arranjos. À sua volta os alugados estendem os sacos, acotovelando‑se. Os demais velhos esperam, sentados, que o tumulto finde para entregarem os seus.
‑ Vai o meu, mestre Francisco!... Tenha‑me cuidado com ele, que leva coisa de partir.
‑ Se fosses tu lá dentro, não te botava aqui, não...
‑ Então adonde?
‑ Ficavas cá na Borda‑d'Água para semente. Fazíamos uma ninhada.
Os risos abafam a resposta da rapariga. O maioral salta abaixo, a apertar uma corda que se afrouxou nos fueiros.
‑ Também a morte tem vícios, ora veja.
‑ Rijo que nem um alazão inteiro, Ti Emília. Consigo é que já não ia. Agora com aquela perinha doce.
‑ Má sina Deus lhe dava, se tivesse de o tratar. Lá morria a cachopa com securas, coitadínha!...
A Ti Emília estava como de costume, a atravessar as conversas. Os seus desalentos não lhe afogavam os ditos. E a malta encontrava sempre risos para os seus gracejos.
O carreiro ri também e volta ã carreta, a receber os sacos.
No meio da confusão de diálogos e clamores, perdem‑se as vozes débeis dos mais sezonados, amarelecidos e de mãos escorridas a tremelicar. Para aqueles a partida é bem‑vinda, embora os lábios chagados não se abram para sorrir. Os outros ficariam ainda, se houvesse trabalho, pois saudades de alugado não trazem pão.
As rodas da carreta já deixam vincos no carril. Se a chuva apertar, uma semana que seja, só ali passam cavalos e homens. E se o Tejo engrossar, tudo aquilo ficará submerso, como um lago enorme, onde vogarão ramos de árvores, restos de poisadas e animais mortos.
Nem para os rabezanos contratados ao ano haverá trabalho. O rio virá das ruas das vilas ribeirinhas até à charneca. Água até ao infinito ‑ tudo encharcado. E a cheia invadirá todos os lares com a sua tragédia.
O maioral lembra‑se disso, a despertar os bois com o aguilhão.
‑ Quiá!... Quíá, Marujo!...
Atrás dele, os ceifeiros seguem como uma enxurrada no leito do carril.
Mais grossa aqui perto, a afilar mais distante, nos que caminham arrastando os pés sem forças.
Os que vão adiante olham sempre em frente. Os outros volvem os olhos para trás, como se esperassem alguma coisa que lhes falta.
E sentam‑se nos combros, a arfar e a ver o caminho percorrido.
Ficou‑lhes a saúde, é isso que lhes falta para andarem leves, como os outros que vão lá à frente, junto à carreta, em procissão. Tudo foi dizimado pelas foices ‑ tudo engolido pelas debulhadoras.
A lezíria parece mais deserta do que nunca. Só restolhos e poisios. Vegetação de abertas e ervitas rasteiras a quererem garrular.
Só os aposentos e palheiros são tropeço à vista. Aqui um salgueiro, mais além, um choupo. Mas as árvores e os aposentos tão dispersos não aquecem a tristeza da lezíria. Fazem‑na mais triste.
Planície e céu ‑ céu e planície. E os homens entregues ao seu destino pelo carril. Manadas a tasquinharem nas restevas e nos poisios. E os chocalhos parecem dizer aos homens palavras de adeus. Quando os ouvem, os ceifeiros que marcham atrás, como restos da enxurrada, julgam ouvir os lamentos de alguma coisa que ali ficou para sempre.
Os montes do Norte atiram‑lhes recordações. No capelo, os moinhos fazem girar as suas velas brancas. Pedreiras de bocas abertas ulceram os montes. Casais aconchegados nos vinhedos descem até ao vale.
E a Lezíria à frente dos olhos, chã e triste. Uma gaita de esfola‑beiços papagueia uma música qualquer.
O rancho caminha ao seu ritmo. Os homens vão leves, que a Vila lhes promete vinho e ali afogarão tormentos e ganharão alegrias falsas.
Os restos do rancho não ouvem a música da gaita de esfola‑beiços, nem nada lhes acena do Norte. Vão dispersos ‑ cada um entregue a si e aos seus pensamentos. Mas agora caminham unidos, como um bloco de angústias irmãs, procurando aquecer seus frios.
‑ Então, vai ó quê?!...
‑ Vai devagar...
A outra ofereceu‑lhe o ombro para que aquela companheira não fique para trás.
Vão mais leves as duas com os pesares repartidos. Olham‑se às vezes e não sabem falar.
São muitos ainda os que vão cá atrás, quase a perder os outros.
Homens débeis como crianças, velhos, cachopas e mães. Estas só pensam nos filhos que levam nos braços. Encontram sorrisos para eles e palavras de carinho, se choram.
Um homem fica‑se a tossir, pondo no peito, aberto pelo cansaço, a sua mão descarnada. E todos param. Ao rosto esverdinhado sobem duas rosas de cor branda. Leva o lenço à testa, passa‑o pela boca e continua a marcha. Os outros deixando‑no aproximar e caminham com ele. Ninguém fala.
Planície e céu ‑ céu e planície.
A lavra do Agostinho Serra pertence ao passado ‑ tudo chão e triste.
A Lezíria será o seu futuro ‑ o futuro deles não difere do passado.
De uma mota, dois rapazes vêm vê‑los, junto aos moirões a que se aperta o arame farpado das tapadas.
‑ Eh, gaibéus!...
Fazem de conta que os não ouvem. Trôpegos, continuam o seu destino. Um dos rapazes salta para o carril e atira‑lhes com torrões.
‑ Eh, gaibéus!... Eh, gaibéus!...
Aquele brado fustiga‑lhes o cansaço. Nenhum se volta a defrontar o rapaz.
‑ Eh, gaibéus!... Eh, gaibéus!...
O companheiro compadece‑se deles e repreende o outro.
‑ Gente desta, pá?... Vêm de casa de um raio tirar o trabalho à gente!...
E volta a agachar‑se no carril em busca de pedras.
‑ Eh, gaibéus!... Eh, gaibéus!...
O saco do ceifeiro rebelde não vai na carreta. Leva‑o enfiado no pau da enxada que deitou sobre o ombro. Ele não é gaibéu como os companheiros de jornada. Mas não pensa em terra sua; traz sempre a fortuna consigo dentro do saco.
Hoje ceifeiro, amanhã cavador, depois vagabundo.
Ele era o camarada louco dos dois emigrantes que ainda não tinham partido, mas guardavam um sonho. Também ele guardava um sonho ‑ um sonho‑certeza.
«África e Brasil dentro de cada homem.»
‑ O camarada agora aonde deita?!... ‑ pergunta um dos gaibéus.
‑ Não sei... Até qualquer banda onde haja trabalho... onde se ganhe para a bucha.
Ainda sentiram vontade de lhe pedir companhia. Irem com ele, sem rumo, embora não perdendo o seu rumo. Juntar depressa mais uns cobres para poderem partir breve. Quanto mais se demorassem, menos facilidades encontrariam. Todos os dias, de todos os portos do mundo, saíam homens para a mesma jornada.
Se demorassem muito a partida, o Brasil ficaria como a Lezíria ‑ só restolhos, poisios e alqueives. Eles precisavam de pão para a velhice, se não fossem prestos, os que chegassem primeiro ficariam com a melhor parte e eles voltariam como o companheiro louco.
«África e Brasil estão dentro de cada homem.»
Caminhavam os três, lado a lado.
A carreta gemia à frente, gingada pelos bois. Na estrada passavam automóveis velozes. Campinos a cavalo. Quando chegassem perto do rio, não veriam a Lezíria à frente dos olhos, como agora. Os montes do Norte tomariam a vista e lembrariam aos alugados o conchego da casa. Na aldeia não havia trabalho, mas alguma coisa se arranjaria para enganar a barriga.
«Barriga de pobre, de Inverno, não come.»
No fim da estrada fica o rio; para lá a Vila e a estação. O comboio passa à noite e levará o rancho todo. Só aquele companheiro não irá com eles. O seu saco vai enfiado no pau da enxada que leva ao ombro.
A carreta parou para se dar um fôlego aos bois. Alguns alugados correram ao furo a matar a sede e a lavar os pés. Os três ficaram à parte.
‑ Vai até à sua terra?!...
‑ Nem já sei bem onde isso fica. Só lá vou quando há trabalho. A minha terra é a que me dá pão.
Os dois gaibéus pensam que o Brasil será a sua.
A dúvida da vida daquele companheiro volta a um deles.
‑ O camarada sempre foi à África?!...
Como o outro lhe respondesse de olhar interrogador, logo esclareceu:
‑ É que julguei ter falado naquilo por graça... Repetiu‑lhes tudo quanto dissera na praia, numa noite de
luar em que os rapazes não tinham ido jogar ao «primeiro da bela mula». Falou dos carregadores e da loja, do navio e do marinheiro de camisola azul.
Uma descrença amarga começou a vencê‑los.
‑ Ó Doirado!... Quiá?...‑gritou o carreiro.
Os bois fincaram os pés no caminho e seguiram até ao asfalto da estrada. Ele levou a mão ao barrete e despediu‑se. Os dois ficaram parados, hesitantes, a vê‑lo seguir.
‑ Boa viagem!...‑desejaram‑lhe ambos. Ainda bem que aquele companheiro partia para não voltar, pensaram depois. A sua figura alta parecia dominar a estrada.
Lá à frente, uma mulher pôs‑se a cantar. Outras juntaram‑se‑lhe :
Vou‑me embora, deixo o campo,
Vou‑me embora, o campo deixo...
Só o riscado da manta dizia que o companheiro ia ali ‑ bem longe agora. Não era alto já ‑ quase tão rasteiro como o restolho da seara. Perderam‑no com uma manada de éguas que passou por ele. E ficaram ainda a procurá‑lo na fita da estrada, querendo agora ter a certeza de que não voltaria.
Quando se olharam, um sorriso iluminou‑lhes o rosto. Os camaradas iam por aí além, a caminho do Cabo. Não percebiam o que as mulheres cantavam, mas devia ser alegre aquela canção, porque a descrença deles partira com o companheiro louco.
Não havia a seus olhos só planície e céu ‑ havia o futuro a rasgar‑se para além daquele céu e daquela planície. Outras gentes, outras casas, outras estradas... Por essas estradas, corria para eles uma vida nova que os faria homens. Mãos e braços não lhes faltavam para trabalhar no que houvesse, ainda mesmo na descarga, embora os outros viessem falar na tal palavra que o companheiro dissera e eles não compreendiam.
Uma camioneta passou a buzinar, roncando, de escape aberto.
‑ Eh, gaibéus! ‑ gritou‑lhes uma voz de dentro da cabina.
O INVERNO VEM Aí!
‑ Fora daí com isso tudo... Não quero tropeços no caminho.
O senhor de boné branco viera de sobrolho franzido para dar aquela ordem e desaparecera. Dois carregadores levaram a mão ao boné quando ele passou e ficaram, como um eco, a repetir‑lhe as palavras.
‑ Fora daí com isso tudo...
Tinham posto os sacos em cima do banco e agora levavam‑nos para junto do balcão dos despachos. O senhor de boné branco dissera aquilo num tom que não merecia dúvidas.
‑ É o chefe...‑esclareceu um, em voz baixa. Amontoaram o que puderam para não tomar espaço,
olhando, de soslaio, os dois carregadores.
‑ Não quero tropeços no caminho...‑insistiu um dos carregadores.
O outro veio espreitar por detrás dos sacos, com a expressão dura que o chefe lhe emprestara, e indagou quem era o capataz.
‑ É dizer a esta gente que o chão não é para sujar. Fazem disto esterqueira...
Os gaibéus foram saindo em grupos ruidosos pela porta do largo. Um chofer disse um gracejo às mulheres e o resto da choferada riu e assuou‑as. Elas escaparam‑se‑lhes numa corrida, fugindo de mãos dadas.
Ainda havia muito sol. O comboio demorava. O capataz partiu sozinho, de visita à padaria e ao merceeiro, a receber a sua maquia nos avios do rancho. De um e de outro ainda faltava arrebanhar trezentos escudos. Com o que recebera já e mais o que ferrara na ceifa, a coisa rendera ‑ o Inverno não lhe bateria à porta. Mais logo daria volta pelas tabernas, onde os homens lhe pagariam vinho por graças de os haver alugado naquela ceifa. Lá no Campo, mesmo à socapa, pouco se podia beber. O Agostinho Serra queria o pessoal direito e precisava de dar o exemplo. Mas hoje o dinheiro aquecia‑lhe a carteira e os ceifeiros queriam ganhar‑lhe a simpatia para outros trabalhos, oferecendo‑lhe vinho e até alguma cerveja.
Na estação ficaram as mães e os mais sezonados, a tomar conta dos arranjos. Sentaram‑se sobre os sacos e pelo chão, a pensar na vida, entretendo os olhos no vaivém dos que entravam e saíam.
De vez em quando, a campainha retinia. Um carregador vinha à porta da gare, um comboio apitava de longe, ia‑se aproximando e parava ali com barulho de freios e exclamações dos que ficavam e dos que partiam. A voz esganiçada da mulher dos bolos e da água ia apregoando.
Uma corneta, um apito, e o comboio de novo em marcha. Ainda não era aquele. O seu viria mais tarde, quando as luzes se acendessem.
Uma das gaibéuas levantou‑se e foi espreitar. Ficou absorta a ver o homem de boné branco a dar ordens com duas bandeiras debaixo do braço. Depois voltou para junto das outras e foi mirando os cartazes dispersos nas paredes. Ainda gostava de ver aquilo tudo. Castelos vermelhos, como castelos de melancia; árvores muito verdes, frutadas de oiro e amarelo; mulheres quase despidas, uma pouca‑vergonha, com as carnes marcadas pelas cores do arco‑íris. Coisas de outro mundo, aquelas dos cartazes.
Uma criança chorou. A mãe tapou‑lhe a boca com o bico do seio. Logo as outras entraram na choraminguice, até que a mamada as calou.
Um mendigo, todo farrapos e casca negra de porcaria, levantou‑se do banco e pôs‑se a passear defronte das mulheres, devorando‑lhes os peitos com o olhar. Tirou detrás da orelha uma ponta de cigarro e acendeu‑a.
As mulheres não deram por ele. Miravam‑se nos filhos e nas companheiras débeis que tossiam. Depois o mendigo cansou‑se do passeio e foi sentar‑se no banco. Dali sonhou uma mulher que nunca tivera.
Homens descalços, de saca ao ombro, vieram encostar‑se ao balcão em conversa. As gaibéuas perceberam que falavam de trabalho. Um deles ria por tudo e fazia caretas quando mastigava as palavras. As camisas estavam sujas de pó amassado com suor e as barbas crescidas enegreciam‑lhes os rostos.
‑ As meninas donde são?!...‑perguntou um deles.
A companheira interrogada voltou a cara, mostrando mau modo.
‑ Assim faz‑se feia. Ora ria‑se lá...
Os homens gargalharam dos ditos e das caretas daquele.
‑ Como se chama ela? ‑ indagou de uma velhota enlevada nos seus gracejos.
‑ Rosa! ‑ respondeu a velha.
‑ Com um nome desses e tão má...
Ela lembrou‑se de que o nome já não lhe pertencia. E que teria de noivar aquele homem, se fosse para a Pedro Dias e ele a procurasse. Sentia as mãos a percorrerem‑lhe o corpo e a boca a procurar a sua.
Pela porta da gare entrou outro homem de saca e rodearam‑no.
‑ Então, ó Manel!... Arranja‑se?!...
‑ Diz que não. O vagão só deita cá amanhã, por sorte...
‑ Não sei como o lãzudo do carregador disse que era hoje.
‑ Negaças!...
Calaram‑se. O das caretas já não sabia gracejar. Um deles tomou o rumo da porta e desapareceu. Os outros seguiram‑no sem palavras.
O sol foi rodando e entrava agora pelos vidros das portas que dão para o largo. Eram horas de comer alguma coisa. Abriram os canivetes e foram cortando fatias de pão e pedacinhos de queijo ou linguiça.
‑ Na taberna da esquina há queijo, ó Emília!...
‑ Não me chega a tanto. Pão com dentes, e graças!...
Três senhoras entraram, enchendo a estação do seu perfume. Vinha com elas um garoto de longos caracóis, que caíam num cabeção de rendas caras. Do canto das bilheteiras olhavam a gare e as gaibéuas. Falavam baixo e riam. As mãos andavam numa roda viva, dos vestidos para os cabelos, retocando‑os.
Uma delas abriu a mala e reviu‑se no espelho, correndo depois a ponta da língua na boca vermelha.
Passavam homens que as miravam. Um deles aproximou‑se, de chapéu na canhota, e beijou‑lhes as mãos.
As ceifeiras ficaram intrigadas com o cumprimento. Elas não tinham cara de mães ou tias do senhor que chegara.
Retiniu de novo uma campainha. O carregador veio para a porta e ralhou aos homens que impediam a passagem. Na bilheteira formara‑se uma fila que se empurrava. ‑ Vá lá com isso, depressa! ‑gritou uma voz.
Depois ouve discussão por causa daquele dito. Tudo amainou de novo, com a chegada do chefe, que veio pedir silêncio.
No banco defronte, o mendigo devorava um naco de pão, olhando as gaibéuas. Recordava‑se dos seios onde passeara a vista sôfrega. Tivesse forças para trabalhar e ainda poderia ser o homem de uma daquelas. Mas assim...
O seu comboio não chegaria nunca e o carregador, quando o percebesse, viria enxotá‑lo do banco. Então teria de procurar abrigo num portal e recordaria os seios das mulheres da estação.
O alarido aumentara. O menino de cabeção de renda, aproveitando‑o, fora para junto das gaibéuas. Como elas o acolhessem de bom modo, o menino aproximou‑se mais e falou‑lhes, depois sentou‑se no chão e pôs‑se a brincar com um miúdo que gatinhara até ele.
‑ Tão dado!... ‑ exclamou uma mulher para a companheira.
‑ É bonito, o cachopo.
Então, por entre os grupos que falazavam, apareceu uma das senhoras em busca do menino.
‑ Marinho!... Marinho!...
O seu perfume chegou de novo às gaibéuas. Uma delas, solícita, apontou‑lho, sorrindo‑se. A senhora não sorriu. O rosto afogueou‑se‑lhe e ergueu o menino num repelão.
‑ parece impossível, Marinho!... Parece impossível!... Onde se veio meter. Se o papá soubesse...
Sem olhar as mulheres, sacudiu‑lhe o fato e compôs‑lhe o cabeção de renda.
‑ Merecia dois açoites, para não ser mau.
O menino entristeceu, de olhos postos no chão. A senhora levou‑o até ao seu grupo.
‑ Sentado no chão com os gaibéus; é pior que um rapaz da rua. Parece impossível, Marinho!... Quando chegar a casa, tenho de o lavar todo. Metido com gente porca...
‑ E pulgas, quantas trará?!...
‑ que coisa, Marinho, que coisa!... Assim faz‑se feio. Não acha, Sr. Ferreira?
‑ É claro!... É claro! Não queira ser rapaz da rua.
O menino aquietou‑se junto à mãe, mais triste ainda. «Ser rapaz da rua era coisa feia», dissera o papá... Já fugia de brincar com eles, mas com mulheres não lhe tinham dito.
Percebia agora que os meninos de cabeção de renda só devem brincar com meninos iguais e falar com mulheres vestidas como a mamã.
Nunca mais cairia noutra. Se o papá soubesse, «não lhe daria mais brinquedos bonitos».
O comboio chegou. Passageiros que desceram atropelavam‑se na porta e saíam apressados. As gaibéuas viram passar as senhoras e uma delas com o menino pela mão.
‑ Tão dado...
‑ E bonito, o cachopo.
E as mães desejaram para os seus filhos uns caracóis iguais e cabeções de rendas. Sabiam que os não teriam nunca, como o mendigo não teria uns seios de mulher, mesmo flácidos e descorados.
Na estação só ficaram as gaibéuas e o mendigo.
As luzes acenderam‑se. Já tinham vindo mais companheiros, de olhos pequenos e bafo de vinho na boca. Uns dormiam. Outros chegavam‑se às raparigas e beliscavam‑nas. Elas empurravam‑nos, soltando gargalhadas.
‑ Caraças!... Não sabe ver sem mexer. Raio de bruxo!
Os três rapazes chegaram também e foram vendo os cartazes berrantes das paredes. Lembravam‑se dos outros que tinham ficado na Lezíria e estavam no areal àquela hora, a contar histórias ou a reinar ao «primeiro da bela mula».
Muito tinham eles para ensinar aos rapazes que não vieram à ceifa.
Outro grupo entrou, cantarolando uma moda que um dos ceifeiros tocava numa gaita de beiços. Ali armaram dança, com estrupir de pés e bater de palmas. Os homens cambaleavam, entontecidos pelo vinho e pelos rodopios. Um veio à porta do largo e vomitou.
Os choferes acolheram‑no com algazarra e gracejos. Logo dois gaibéus quiseram tirar despique. As mulheres agarraram‑nos, lamuriando.
A gaita de beiços tocava sempre.
‑ Vá de lixo aqui ‑ sentenciou um dos carregadores de dentro do balcão dos despachos.
‑ É ir para a gare, que o comboio não tarda. O Francisco Descalço foi tirar os bilhetes e distribuiu‑os. Um grupo sarrazinava uma cantiga:
Era o vinho, meu Deus, era o vinho,
era o vinho que eu mais adorava...
Começou a choviscar. De sacos às costas, foram passando os amanhos para o telheiro. Os carris brilhavam à luz frouxa das lâmpadas. Noite sem luar. A morrinha a cair ‑ chuva de molha‑tolos,
... Só por morte, meu bem, só por morte,
só por morte eu o vinho deixava.
Um homem aproximou‑se do relógio e acertou o seu. Os ponteiros não se fixavam.
‑ O relógio está bêbedo, ó Zé!...
O outro veio e confirmou. Os ponteiros não estavam lá. Puxaram da borracha e meteram‑na à boca.
‑ Vai uma pinga?! Mais dois vieram aproveitar a oferta. A gaita de beiços a tocar sempre a sarrazina do grupo.
...Era o vinho, meu Deus, era o vinho...
O senhor de boné branco passou com uma lanterna na mão. Deu ordens aos carregadores e desapareceu pela porta donde saíra. Os rapazes foram espreitar.
O Malpronto reparou que no céu não estavam as esporas do pai do Cadete. Naquela noite os companheiros não tinham ido para o areal contar histórias.
A campainha retiniu e deu alarme dentro dos ceifeiros. Ergueram‑se as mulheres, puxando os sacos à frente. Todo o rancho se agitou ao contacto daquele sinal. A chuva caía como pó.
«O João da Loja a prometer‑lhe mundos e fundos. Depois todos os outros que a queriam e acabavam de saber que estivera no aposento do Agostinho Serra. A feira de Santa Iria... As mulheres da Pedro Dias... Oh, Balbina...»
«Seu Emílio!... Chapéu nas mãos, olhos nas biqueiras dos sapatos. O milhano a voar com um bocadito de terra nas garras. Tudo perdido!...»
«Mais um ano e abalariam. Aquilo assim não era vida. Trabalhava em qualquer coisa que os braços não se ficavam.»
O silvo do comboio cortou a chuva. Na curva, o seu olho gigante apareceu, aproximando‑se. O facho da sua luz passou por eles e continuou. Vultos mal fixados às janelas. Lá abaixo, uma mulher apregoava bolos e copos com água.
‑ Vá, depressa!...
Correram a uma carruagem e lá de dentro disseram que não havia lugares. Foram a outra e repetiram‑lhes o mesmo.
‑ Vá, depressa!... O comboio não espera!...
Barulho de portas a bater. A gaita de beiços a tocar sempre.
... Só por morte, meu bem, só por morte...
Uns subiram e outros ficaram na gare a dar os sacos. As crianças choravam aos colos das mães. O corredor e as redes ficaram atafulhados.
Misturavam‑se na balbúrdia o bater de portas, as gargalhadas e as imprecações.
- Partida!... ‑ anunciou o carregador com voz fanhosa.
Um homem entrou a correr pela estação e subiu para a carruagem.
O senhor do boné branco fez soar um apito e agitou a lanterna. O silvo do comboio ecoou mais estridente do que nunca.
Agora só para o ano, nas mondas.
Um gaibéu veio à janela e pespegou um manguito repuxado aos que ficavam no cais.
‑ Eh, gaibéu dum corno!
O comboio penetrou na noite. Uma luz ou outra ao longe. Vozes a cantarem em coro a música da gaita de beiços.
Como em chicotadas, a chuva batia nos vidros da carruagem, instando o comboio à marcha.
Vinha aí o Inverno.
O vinho fizera esquecer a muitos o destino certo. Os que o sentiam iam tristes, incomodados pela alegria dos camaradas.
No silêncio dos campos, o silvo do comboio lançava o apelo do seu desespero.
Era o vinho, meu Deus, era o vinho...
E o Inverno vinha aí...
Alves Redol
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















