



Biblio VT




Hereges é uma obra em que G.K. Chesterton (1874–1936) esboça a própria filosofia ao identificar os pontos fracos nas filosofias de seus contemporâneos. Um “herege”, explica, é “um homem cuja visão das coisas tem a audácia de diferir da minha”. Sua crítica não se limita à análise de autores específicos. Tem um sentido mais geral. Partindo da análise dos erros de um conjunto heterogêneo de escritores modernos, explica o que considera estar errado com o pensamento do mundo moderno. Publicado em 1905, Hereges abre caminho para Ortodoxia, que surge três anos depois. Ortodoxia apresenta a filosofia de Chesterton no que chama de “conjunto de imagens mentais”. Hereges traz um relato mais analítico das filosofias dos escritores de seu tempo. Isso foi algo provocador. Na biografia de Chesterton, Maisie Ward (1889–1975) comenta sobre a animosidade com que o livro foi recebido. Críticos que tinham boas coisas a dizer sobre os escritos anteriores de Chesterton a respeito de Robert Browning (1812–1889) ou Charles Dickens (1812–1870) ficaram irritados ao perceber que ele voltara a atenção crítica para o que considerava “erros dos autores contemporâneos”.
A idéia central da filosofia chestertoniana está na importância do dogma. Numa era que celebrava o irracionalismo, Chesterton defendeu a razão. Ademais, insistiu que havia uma estreita ligação entre razão e religião. Como observou no capítulo final do livro, as verdades contestadas se transformam em dogmas. Por este ponto de vista, cada pensador é o fundador de um sistema filosófico que pode ser descrito como uma igreja. É por isso que num livro dedicado aos contemporâneos, Chesterton parece demonstrar pouco interesse nos traços pessoais ou nas fraquezas. Para ele, cada escritor era mais bem compreendido pelo exame do que chamava de “visão geral da existência” e, portanto, neste livro, um grupo de pensadores que quase não tinha interesse na religião formal é revelado como inconscientemente religioso.
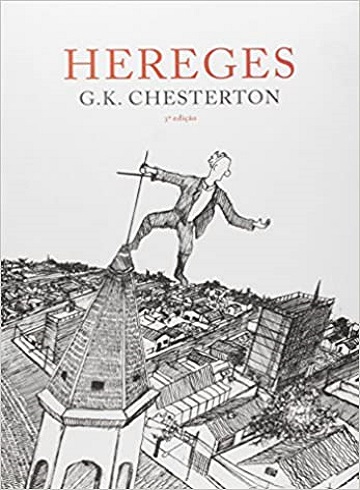
CAPÍTULO I
Observações iniciais sobre a importância da Ortodoxia
NADA INDICA, de modo mais inusitado, o enorme e silencioso mal da sociedade moderna do que o estranho uso que é feito, em nossos dias, da palavra “ortodoxo”. No passado, o herege se orgulhava de não ser herege. Os reinos do mundo, a polícia e os juízes é que eram hereges. Ele era ortodoxo. Não se orgulhava de se ter rebelado; eles é que se tinham rebelado contra ele. Os exércitos com sua cruel segurança, os reis com suas frias fisionomias, os decorosos processos do Estado, os razoáveis processos da lei – tudo isso se desviara. O homem tinha orgulho de ser ortodoxo, tinha orgulho de estar certo. Caso ficasse isolado num deserto imenso, era mais que um homem; era uma igreja. Era o centro do universo; em torno dele giravam as estrelas. Todas as torturas extirpadas de infernos esquecidos não poderiam fazê-lo admitir que fosse um herege. Mas umas poucas expressões modernas o fizeram orgulhar-se disso. Diz, com um sorriso deliberado, “Acho que sou muito herético”, e olha ao redor em busca de aplausos. A palavra “heresia” não só deixa de significar estar errado como praticamente significa ser lúcido e corajoso. A palavra “ortodoxia” não só deixa de significar estar certo como praticamente significa estar errado. Tudo isso só pode expressar uma coisa, e uma coisa somente: as pessoas se preocupam menos em estar filosoficamente certas. Obviamente, um homem deve confessar estar louco, antes de reconhecer ser herege. O boêmio, de gravata vermelha, deve se aborrecer com a própria ortodoxia. O dinamitador, ao armar uma bomba, deve sentir que, seja o que for, ao menos, é ortodoxo.
É uma tolice, em geral, um filósofo abrir fogo contra outro filósofo no Mercado Smithfield1 porque não concordam a respeito das teorias sobre o universo. Isso foi feito com muita freqüência nos últimos e decadentes períodos da Idade Média, e a prática fracassou completamente em seu objeto. Mas há algo infinitamente mais absurdo e inútil do que queimar um homem por causa de sua filosofia; é o hábito de dizer que sua filosofia não importa. E isso é feito universalmente no século XX, na decadência do grande período revolucionário. Teorias gerais são desprezadas em todos os lugares; a doutrina dos Direitos do Homem é posta de lado juntamente com a doutrina da Queda do Homem. O próprio ateísmo, aos olhos do mundo atual, é muito teológico. A revolução é, em grande parte, um sistema; a liberdade é, em grande parte, uma repressão. Não teremos generalizações. O Sr Bernard Shaw2 resumiu a situação num perfeito epigrama: “A regra de ouro é que não há regra de ouro”. Tendemos cada vez mais a discutir detalhes em arte, política e literatura. A opinião de um homem sobre os bondes tem importância; sua opinião sobre Botticelli3 tem importância; sua opinião sobre todas as coisas não tem importância. Ele pode mudar de opinião e explorar milhões de objetos, mas não deve encontrar aquele objeto estranho, o universo, pois se o fizer, terá uma religião, e estará perdido. Tudo tem importância, exceto tudo.
Quase não precisamos de exemplos de total leviandade sobre o tema da filosofia cósmica. Quase não precisamos de exemplos para mostrar que, seja o que for que pensemos sobre os assuntos práticos, não pensamos que importa se um homem é pessimista ou otimista, cartesiano ou hegeliano, materialista ou espiritualista. Permitam-me, contudo, que eu tome um exemplo aleatório. Em qualquer inocente mesa de chá, podemos facilmente ouvir um homem dizer que “A vida não vale a pena ser vivida”. Damos crédito a isso como damos crédito à afirmação de que o dia está belo hoje. Ninguém pensa que isso possa ter qualquer efeito sério sobre o homem ou sobre o mundo. No entanto, se tal discurso fosse levado realmente a sério, o mundo estaria de cabeça para baixo. Assassinos receberiam medalhas por livrarem os homens da vida; bombeiros seriam denunciados por evitarem a morte dos homens; venenos seriam usados como remédios; médicos seriam chamados quando as pessoas estivessem saudáveis; a Real Sociedade Humanitária4 seria erradicada como uma horda de assassinos. Mesmo assim, nunca especulamos se o pessimista sociável fortalecerá ou desorganizará a sociedade, pois estamos convencidos de que teorias não importam.
Certamente não era essa a idéia daqueles que criaram as condições para nossa liberdade. Quando os antigos liberais removeram as mordaças de todas as heresias, sua idéia era a de que descobertas filosóficas e religiosas poderiam, então, ser feitas. A visão deles era de que a verdade universal era tão importante que cada um de nós deveria dar um testemunho independente. A idéia moderna é de que a verdade universal é tão sem importância que não importa o que cada um diz. Os liberais se livraram da investigação como quem liberta um nobre cão de caça; os modernos se livraram da investigação como quem devolve ao mar um peixe inadequado ao consumo. Nunca houve tão pouca argumentação sobre a natureza dos homens como agora, quando, pela primeira vez, qualquer um pode discutir isso. A velha restrição significava que somente o ortodoxo podia discutir religião. A moderna liberdade significa que ninguém pode discuti-la. O bom gosto, a última e a mais desprezível das superstições, teve sucesso em silenciar-nos onde todos fracassaram. Sessenta anos atrás, era de mau gosto ser um ateu declarado. Então, surgiram os bradlaughitas,5 os últimos homens religiosos, os últimos homens a se preocuparem com Deus; mas não puderam alterar a situação. Ainda é de mau gosto ser um ateu declarado. Mas a agonia deles conseguiu apenas isto – agora é igualmente de mau gosto ser um cristão declarado. A emancipação apenas trancou o santo na mesma torre de silêncio do heresiarca. Assim, falamos sobre lorde Anglesey6 e o clima, e chamamos isto de completa liberdade em relação a todos os credos.
Mas há algumas pessoas – entre as quais me incluo – que pensam que a coisa mais prática e importante sobre o homem ainda é sua visão a respeito do universo. Cremos que para a proprietária que analisa um possível inquilino é importante saber sua renda, mas é ainda mais importante conhecer sua filosofia. Cremos que para um general prestes a lutar contra um inimigo é importante saber a quantidade de inimigos, mas é ainda mais importante conhecer a filosofia do inimigo.
Cremos que a questão não é se a teoria do cosmo afeta as coisas, mas se, no longo prazo, algo mais as afeta. No século XV, os homens interrogavam e atormentavam uma pessoa por pregar alguma atitude imoral. No século XIX, festejamos e lisonjeamos Oscar Wilde7 porque prega a mesma atitude e, então, o decepcionamos, trancafiando-o na prisão por ter realizado o que proclamava. A questão é saber qual dos dois métodos é o mais cruel; não há dúvida de qual é o mais ridículo. A época da inquisição pelo menos não teve a infelicidade de produzir uma sociedade que idolatrou um mesmo homem por pregar exatamente as mesmas coisas que o tornariam um prisioneiro por praticá-las.
Ora, em nossa época, a filosofia ou a religião, ou seja, a teoria das coisas fundamentais foi expulsa mais ou menos ao mesmo tempo dos dois campos que costumava ocupar. As idéias gerais costumavam dominar a literatura. Foram de lá expelidas pelo clamor da “arte pela arte”. Idéias gerais costumavam dominar a política. Foram de lá expelidas pelo clamor da “eficiência”, que pode ser grosseiramente traduzido por “política pela política”. De forma persistente, nos últimos vinte anos, as idéias de ordem ou de liberdade minguaram em nossos livros; as ambições de inteligência e eloqüência minguaram em nossos parlamentos. A literatura se tornou propositalmente menos política; a política se tornou propositalmente menos literária. As teorias gerais sobre as relações das coisas foram extirpadas de ambas; e estamos na posição de perguntar: “O que ganhamos ou perdemos com essa expulsão? Será que a literatura melhorou, a política melhorou, por ter descartado o moralista e o filósofo?”.
Quando tudo num povo enfraquece e se torna ineficiente, esse povo começa a falar de eficiência. Assim, também, quando o corpo de um homem começa a fraquejar, ele, pela primeira vez, começa a falar de saúde. Organismos vigorosos não falam de seus processos, mas de seus objetivos. Não há melhor prova da eficiência física de um homem do que a animação ao falar sobre uma viagem ao fim do mundo. E não há melhor prova de eficiência prática de uma nação do que a constante menção à uma viagem ao fim do mundo, uma viagem ao dia do juízo e à nova Jerusalém. E não há sinal mais claro de uma saúde debilitada do que a tendência a buscar elevados e extravagantes ideais. É no primeiro vigor da infância que tentamos alcançar a lua. Nenhum homem enérgico das eras fortes entenderia o que queremos dizer com “trabalhar para eficiência”. Hildebrand8 teria dito que não estava empregando seus esforços para ser eficiente, mas pela Igreja Católica. Danton teria dito que não estava labutando para ser eficiente, mas pela liberdade, igualdade e fraternidade. Mesmo se o ideal de tais homens fosse o ideal de empurrar alguém escada abaixo, eles pensariam na finalidade como homens e não no processo como paralíticos. Não diriam: “Ao elevar eficientemente minha perna, vocês poderão notar que utilizando os músculos da coxa e da panturrilha, que estão em excelente forma...”. O sentimento deles seria bem diferente. Estariam tomados pela bela visão de um homem estatelado ao término dos degraus que, neste êxtase, o restante se seguiria num segundo. Na prática, o hábito de generalizar e idealizar não significa, de forma alguma, fraqueza. O tempo das grandes teorias foi o tempo dos grandes resultados. Numa época de sentimentalismo e de palavras elegantes, ao final do século XVIII, os homens eram realmente robustos e eficientes. Os sentimentalistas conquistaram Napoleão.9 Os cínicos não conseguiram pegar De Wet.10 Há cem anos, nossos assuntos, fossem para o bem ou para o mal, eram tratados triunfantemente por retóricos. Agora, nossos assuntos são irremediavelmente desorganizados por homens fortes e silenciosos. E assim como o repúdio das grandes palavras e das grandes visões nos trouxe uma raça de anões na política, trouxe também uma raça de anões nas artes. Nossos políticos modernos tentam desfrutar dos méritos de César11 e do super-homem12 e alegam que são muito práticos para serem puros e muito patrióticos para serem morais. Mas o resultado disso é ter um medíocre como Ministro da Fazenda.13 Nossos novos filósofos artísticos exigem mesma licença moral, por uma liberdade para devastar céus e terras com sua energia; mas o resultado disso é ter um medíocre como poeta laureado.14 Não digo que não haja homens mais fortes que estes, mas será que alguém dirá que há homens mais fortes do que os de outrora, dominados pela filosofia e impregnados pela religião? Se a servidão é melhor que a liberdade, isso é uma questão a ser discutida. Mas que a servidão dos antigos fez mais que a nossa liberdade será difícil negar.
A teoria da amoralidade na arte se estabeleceu firmemente na classe artística; estão livres para produzir qualquer coisa que desejarem. Estão livres para escrever um poema como O Paraíso Perdido,15 em que Satã conquistará Deus. Estão livres para escrever uma Divina Comédia16 em que o Paraíso pode estar abaixo do nível do Inferno. E o que fizeram? Será que produziram, em sua universalidade, algo mais grandioso ou mais belo do que a criação do impetuoso gibelino católico17 ou do rígido mestre-escola puritano?18 Sabemos que produziram apenas uns poucos rondós.19 Milton não os vencia somente pela sua devoção, vencia-os pela sua própria irreverência. Em todos os livrecos em versos, não encontraremos um desafio a Deus mais sofisticado que o de Satã. Tampouco sentiremos a grandeza do paganismo da forma como aquele ardoroso cristão descrevera Faranata20 erguendo a cabeça em puro desdém pelo inferno. E a razão é muito clara. A blasfêmia é um efeito artístico, pois depende de uma convicção filosófica. A blasfêmia depende da crença e, com ela, definha. Caso alguém duvide disso, faça-o sentar e tentar, com seriedade, ter pensamentos blasfemos a respeito de Thor.21 Penso que a família desse sujeito, ao fim do dia, o encontrará exausto.
Nem o mundo da política, nem o da literatura conseguiu ter sucesso com a rejeição das teorias gerais. Pode ter sido por causa dos muitos ideais equivocados e lunáticos que de tempos em tempos atingiram a humanidade, mas seguramente não houve ideal posto em prática mais equivocado e lunático do que o ideal da praticidade. Nada perdeu tantas oportunidades como o oportunismo de lorde Rosebery.22 Ele é, de fato, um símbolo permanente de sua época – o homem que é teoricamente um homem prático, e, praticamente, menos prático do que um teórico. Nada neste universo está tão longe da sabedoria quanto aquela espécie de veneração da sabedoria mundana. Um homem que está continuamente pensando se esta ou aquela raça é mais forte, ou se esta ou aquela causa é mais promissora, é um homem que nunca acreditará em algo por tempo suficiente para fazê-lo prosperar. O político oportunista é como um homem que pára de jogar bilhar porque perdeu no bilhar e que pára de jogar golfe porque perdeu no golfe. Não há nada mais prejudicial aos propósitos práticos que essa enorme importância dada à vitória imediata. Não há nada que fracasse mais que o sucesso.
E, tendo descoberto que o oportunismo realmente fracassa, fui induzido a considerá-lo mais detalhadamente e, em conseqüência, a ver que ele tem de fracassar. Percebi que é muito mais prático começar pelo começo e analisar as teorias. Vi que os homens que se matavam pela ortodoxia do Homousion23 eram muito mais sensíveis que as pessoas que estão discutindo a Lei da Educação,24 visto que os dogmáticos cristãos estavam tentando estabelecer um reino de santidade e tentando definir, primeiramente, o que era realmente santo. Mas nossos modernos educadores estão tentando produzir uma liberdade religiosa sem tentar definir o que é religião ou o que é liberdade. Se os antigos padres impunham um juízo à humanidade, pelo menos fizeram algum esforço prévio para torná-lo claro; sobrou para a moderna turba de anglicanos e não-conformistas25 a perseguição por causa de doutrina sem sequer indicar qual seja.
Por essas razões, e por muitas outras, por exemplo, comecei a acreditar na volta aos fundamentos. Tal é a idéia deste livro. Quero tratar com os mais distintos contemporâneos, não pessoalmente ou de uma maneira meramente literária, mas em relação ao verdadeiro corpo doutrinário que ensinam. Não estou preocupado com o Sr Rudyard Kipling26 como um artista vívido ou uma personalidade vigorosa. Ocupo-me dele como um herege – isto é, um homem cuja visão das coisas tem a audácia de diferir da minha. Não me interesso pelo o Sr Bernard Shaw como um dos homens vivos mais brilhantes e mais honestos; estou interessado nele como um herege – isto é, um homem cuja filosofia é muito sólida, muito coerente, e muito errada. Retrocedo aos métodos doutrinais do século XIII, na esperança de conseguir obter algum resultado.
Suponhamos que surja em uma rua grande comoção a respeito de alguma coisa, digamos, um poste de iluminação a gás, que muitas pessoas influentes desejam derrubar. Um monge de hábito cinza, que é o espírito da Idade Média, começa a fazer algumas considerações sobre o assunto, dizendo à maneira árida da Escolástica: “Consideremos primeiro, meus irmãos, o valor da luz. Se a luz for em si mesma boa...”. Nesta altura, o monge é, compreensivelmente, derrubado. Todo mundo corre para o poste e o põe abaixo em dez minutos, cumprimentando-se mutuamente pela praticidade nada medieval. Mas, com o passar do tempo, as coisas não funcionam tão facilmente. Alguns derrubaram o poste porque queriam a luz elétrica; outros, porque queriam o ferro do poste; alguns mais, porque queriam a escuridão, pois seus objetivos eram maus. Alguns se interessavam pouco pelo poste, outros, muito; alguns agiram porque queriam destruir os equipamentos municipais; outros porque queriam destruir alguma coisa. E há uma guerra noturna em que ninguém sabe a quem atinge. Então, aos poucos e inevitavelmente, hoje, amanhã, ou depois de amanhã, voltam a perceber que o monge, afinal, estava certo, e que tudo depende de qual é a filosofia da luz. Mas o que poderíamos ter discutido sob a lâmpada a gás, agora teremos que discutir no escuro.
1 Mercado central de carne em Londres.
2 George Bernard Shaw (1856–1950) foi um dramaturgo, romancista, contista, ensaísta e jornalista irlandês. Vegetariano, socialista e membro da sociedade fabiana, ainda assim conseguia manter uma polêmica amizade, fundada na admiração mútua, com Chesterton e Hilarie Belloc (1870–1953). As divergências entre Chesterton e Shaw sempre foram objeto de críticas e observações mordazes entre os dois escritores, fato que gerou, da parte de Chesterton, não só o capítulo IV da presente obra, como diversas observações esparsas contra as idéias de Shaw e o ensaio, de 1909, intitulado George Bernard Shaw. Por ocasião da morte de Chesterton, em 1936, Shaw o descreveu como “gênio colossal”.
3 Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (1445–1510), conhecido como Sandro Botticelli, foi um célebre pintor da Escola Florentina do Renascimento.
4 Instituição de caridade britânica fundada em 1774, cuja patrona é a Rainha, que promove intervenções salva-vidas e concede premiações por atos de bravura, como medalhas, comendas e certificados.
5 Seguidores de Charles Bradlaugh (1833–1891), o mais famoso ateu militante do século XIX na Inglaterra. Associou-se com Annie Besant (1847–1933) [teósofa, ligada à maçonaria, ao socialismo fabiano e associada à Helena P. Blavatsky (1831–1891)] na defesa do controle de natalidade. Teve direito a assumir uma cadeira no parlamento sem jurar sobre a Bíblia.
6 Referência ao marechal de campo Henry William Paget (1768–1854), primeiro marquês de Anglesey e comandante da cavalaria aliada na batalha de Waterloo.
7 Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854–1900) foi um dramaturgo e escritor irlandês, promotor do esteticismo ou dandismo. Tornou-se um dos dramaturgos mais famosos da Inglaterra na década de 1890, tendo a carreira interrompida pela acusação e prisão por homossexualismo.
8 Nome do Papa São Gregório VII, um dos maiores pontífices que a Igreja conheceu e que esteve no trono de Pedro de 1073 a 1085.
9 Napoleão Bonaparte (1769–1821) foi o dirigente efetivo da França a partir de 1799, adotando o nome de Napoleão I. Foi imperador da França de 18 de maio de 1804 a 6 de abril de 1814, posição que voltou a ocupar por poucos meses em 1815 (20 de março a 22 de junho). Além disso, conquistou e governou grande parte da Europa central e ocidental. Figura importante no cenário político mundial de sua época, deveu o sucesso ao talento como estrategista e ao espírito de liderança.
10 Christiaan Rudolph de Wet (1854–1922), político sul-africano e general bôer na Guerra dos Bôeres.
11 Caio Júlio César (100 a.C.–44 a.C.) foi um patrício, líder militar e político romano. Suas conquistas na Gália estenderam o domínio romano até o oceano Atlântico; proclamou-se ditador e empreendeu uma série de transformações administrativas e econômicas. Seu assassinato por um grupo de senadores impediu a continuidade do trabalho e abriu caminho a uma instabilidade política que viria a culminar no fim da República e início do Império Romano. Os feitos militares de César são conhecidos através do próprio punho e por relatos de autores como Suetônio (69–141) e Plutarco (46–126).
12 Referência ao termo alemão Übermensch, descrito no livro Assim Falou Zaratustra (1883–1885), do filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844–1900), em que explica os passos pelos quais alguém pode se tornar um super-homem ou homem superior.
13 Chancellor of the Exchequer é o título do ministro britânico que trata de todos os assuntos econômicos e financeiros e desempenha um papel semelhante aos postos de Ministro das Finanças ou Secretário do Tesouro em outros países. Nesta ocasião, provavelmente Chesterton estava se referindo a Austen Chamberlain (1863–1937), político conservador que esteve na pasta de 1903 a 1905, sendo sucedido por Herbert Henry Anquith (1852–1928).
14 Termo que designa o poeta oficialmente indicado pelo governo para compor poesias para datas cívicas e outros eventos governamentais. No Reino Unido, desde o reinado de Charles II (1630–1685) é um título honorífico conferido pelo monarca. A titulação existe em outros países como Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, País de Gales e Escócia. Chesterton, nesta ocasião, estava se referindo a Alfred Austin (1835–1913).
15 O poema épico O Paraíso Perdido (1667) é uma das obras mais conhecidas de John Milton (1608–1674), um dos mais importantes representantes do classicismo inglês. A obra, escrita em versos brancos, trata do tema do pecado original e expulsão do homem do paraíso. Neste relato lírico incorpora referências pagãs e gregas, lida com temas como casamento e política, além de vários tópicos controversos de Teologia, como: destino, predestinação, Trindade, pecado, anjos, anjos decaídos e Satanás.
16 Considerada uma das obras máximas do gênio humano, é um poema de viés épico e teológico, escrito pelo poeta e político florentino, Dante Alighieri (1265–1321). Dividida em três partes (Inferno, Purgatório e Céu), foi elaborada entre os anos de 1304 a 1321. Tornou-se uma das matrizes da língua italiana atual e é a melhor representação da cosmovisão medieval que temos hoje.
17 Referência a Dante Alighieri (1265–1321), o primeiro e maior poeta da língua italiana. Na cidade de Florença, nos séculos XII e XIII, havia duas facções políticas: os guelfos, partidários do papado (divididos em brancos e negros), e os gibelinos, partidários do Império. A descrição de Chesterton parece paradoxal, já que Dante, um guelfo branco, foi multado e obrigado a se exilar de Florença, por volta de 1302, quando os guelfos negros chegaram ao poder. No entanto, essa pode ser uma boa descrição de Dante no final da vida.
18 Referência ao poeta John Milton (1608–1674). Ao contrário do que Chesterton afirma, não foi um professor primário no sentido usual. Foi tutor dos dois filhos de sua irmã e seu tratado Of Education (1644) demonstra que parece ter sido um preceptor bastante exigente.
19 O rondó é um tipo de verso usado na poesia inglesa que foi inventado por Algernon Charles Swinburne (1837–1909). É uma variação do rondeau francês e faz uso de refrãos, repetidos segundo determinado padrão estilizado.
20 Chesterton erra na grafia do nome. No Canto X do Inferno, Dante encontra Farinata degli Uberti (1212–1264), líder dos gibelinos de Florença.
21 Divindade que representa a força da natureza no paganismo germânico.
22 Archibald Primrose, 5º Duque de Rosebery (1847–1929). Político inglês que, além de muitos cargos administrativos, foi primeiro-ministro entre os anos de 1894–95, sucedendo William E. Gladstone (1809–1898). Era entusiasta da idéia do Império Britânico e de uma forte defesa nacional. Embora fosse contra o socialismo, pregou uma reforma social em seu país nos moldes da esquerda. Como líder dos imperialistas liberais, se opunha diametralmente à posição de Chesterton.
23 O conceito de Homousion pode ser visto como a síntese do grande Concílio de Nicéia. A palavra grega Homo-ousios significa “da mesma substância de” ou “com a mesma essência”, é o consubistantialem (consubstancial), introduzido no ano de 325 no Credo de Nicéia, em oposição à noção herética de Homoi-ousios (“de natureza semelhante”) defendida pelo Arianismo.
24 Chesterton se refere ao polêmico Education Act de 1902, que estabeleceu um sistema de controle estatal para o ensino fundamental e médio na Grã-Bretanha e que se tornou um dos principais temas políticos da época. Entre as principais reformas estava a abolição dos conselhos escolares e a substituição por autoridades locais de educação. A controvérsia contribuiu para a vitória do Partido Liberal nas eleições gerais de 1906.
25 Nomenclatura usada, após o Act of Uniformity de 1662, para distinguir os que não pertencessem a qualquer denominação cristã, pregassem a liberdade religiosa ou fossem dissidentes da Igreja Anglicana. No século XVII, eram considerados desse grupo os Presbiterianos, os Congressionalistas, os Batistas e os Quackers, e posteriormente se acrescentaram os Metodistas, os Unitaristas e os membros do Exército da Salvação.
26 Joseph Rudyard Kipling (1865 - 1936) foi um poeta e escritor britânico dos mais populares de sua época, tendo escrito grandes clássicos da literatura infantil, incluindo o famoso The Jungle Book [O livro da selva], que conta, entre outras, a famosa história do menino selvagem Mogli. Seus contos chegaram mesmo a inspirar movimentos ligados ao escotismo por meio de temas empregados em suas histórias. Por abordar recorrentemente a temática militar e disciplinar, ficou conhecido como o “profeta do imperialismo britânico”.
CAPÍTULO II
O espírito negativista
MUITO TEM sido dito, e com verdade, a respeito da morbidez do ascetismo, a respeito da histeria que freqüentemente acompanha as visões de eremitas ou de freiras. Contudo, nunca nos esqueçamos que essa religião visionária é, em certo sentido, necessariamente mais saudável que nossa sábia e moderna moralidade. É mais saudável por poder contemplar a idéia de sucesso ou triunfo na desesperançada luta pelo ideal ético, algo que Stevenson27 chamou, com habitual e extraordinária felicidade, de “a fracassada luta pela virtude”.28 A moralidade moderna, por outro lado, só pode indicar, com absoluta convicção, os horrores da violação à lei; sua única certeza é a certeza do mal. Só pode mostrar a imperfeição. Não há nenhuma perfeição a que possa se dirigir. Mas um monge meditando sobre Cristo ou Buda tem na mente a imagem da saúde perfeita, algo de aspecto límpido e ar puro. Pode contemplar esse ideal de completude e felicidade muito mais do que deveria; pode contemplá-lo a ponto de negligenciar ou excluir coisas essenciais; pode contemplá-lo até que se torne um sonhador ou um parvo; mas, ainda assim, é a completude e a felicidade que ele está contemplando. Pode enlouquecer; mas enlouquece por amor à sanidade. O estudante moderno de ética, mesmo que permaneça são, permanece são por um temor insano da insanidade.
Um anacoreta que rola sobre pedras num furor de submissão é, fundamentalmente, uma pessoa mais saudável que muitos homens sóbrios de chapéus de cetim que caminham por Cheapside.29 Para muitos, esses homens são bons somente por um conhecimento degenerado do mal. Não estou, no momento, reivindicando, para o devoto, nada mais que esta vantagem primária: a de que embora possa, pessoalmente, estar se fazendo fraco e miserável, está, mesmo assim, fixando os pensamentos, sobretudo, numa força e felicidade gigantes, numa força que não tem limites e numa felicidade que não tem fim. Sem dúvida, há outras objeções razoáveis que podem ser levantadas contra a influência de deuses e visões na moralidade, seja na cela do monge, seja nas ruas. Mas a moralidade mística deve ter sempre esta vantagem: é sempre mais alegre. Um jovem pode evitar o vício pela lembrança contínua da doença. Pode evitá-lo também pela lembrança contínua da Virgem Maria. Pode haver dúvida sobre qual método é mais razoável, ou mesmo qual é mais eficiente. Mas certamente não pode haver dúvida sobre qual é mais saudável.
Lembro-me de um panfleto, escrito por um secularista talentoso e sincero, Sr G.W. Foote,30 que continha uma frase que simbolizava e dividia categoricamente esses dois métodos. O panfleto se chamava “A cerveja e a Bíblia”, duas coisas muito nobres, tanto mais por estarem associadas ao Sr Foote que, no estilo rígido de um velho puritano, parecia estar sendo sarcástico, mas que confesso crer estar sendo relevante e encantador. Não tenho o panfleto comigo, mas lembro que o Sr Foote repudiava com desdém qualquer tentativa de tratar o problema da bebida por meio de ofícios ou intercessões religiosas, e disse que a imagem emoldurada de um fígado de bêbado seria mais eficaz, em matéria de temperança, do que qualquer oração ou louvor. Esta pitoresca expressão parece encarnar perfeitamente a incurável morbidez da ética moderna. Nesse templo, as luzes são fracas, as pessoas se ajoelham e hinos solenes são entoados. Mas o altar perante o qual todos os homens se ajoelham não é mais o da carne perfeita, do corpo e da substância do homem perfeito; ainda é de carne, mas de carne doente. É o fígado do bêbado do Novo Testamento31 que é deteriorado por nós, e que tomamos em memória dele.
Bem, é este o grande hiato da ética moderna, a ausência de imagens vívidas de pureza e de triunfo espiritual, e que repousa no fundo da verdadeira objeção sentida por muitos homens sãos com relação à literatura realista do século XIX. Caso qualquer homem comum diga que ficou horrorizado pelos assuntos discutidos em Ibsen32 ou Maupassant,33 ou pela linguagem simples com que foram descritos, tal homem está mentindo. A conversa comum dos homens comuns, em toda a civilização moderna, em qualquer classe ou atividade, se dá de forma tal que um Zola34 jamais sonharia empregar. Nem o hábito de escrever sobre tais coisas é algo novo. Ao contrário, o melindre e o silêncio vitorianos é que são novos, embora já estejam desaparecendo. A tradição de “dar nome aos bois”35 começa muito cedo na literatura inglesa e declina muito mais tarde. No entanto, a verdade é que o homem comum e honesto, seja qual for a explicação imprecisa que possa ter dado aos sentimentos, não estava desgostoso, nem mesmo chateado, com a sinceridade dos modernos. O que o desgostava, e muito justificadamente, não era a presença de um claro realismo, mas a ausência de um claro idealismo. Sentimentos religiosos genuínos e fortes nunca fizeram objeção ao realismo; ao contrário, a religião era a coisa realista, algo brutal e o que dava nomes às outras coisas. Esta é a grande diferença entre alguns recentes eventos não-conformistas e o grande puritanismo do século XVII. Toda a argumentação dos puritanos foi dizer que os não-conformistas não davam a mínima para a decência. Os jornais não-conformistas modernos se distinguem por suprimir, precisamente, os nomes e adjetivos com que os fundadores da não-conformidade se distinguiam ao investirem contra reis e rainhas. Mas, caso uma das principais pretensões da religião seja falar francamente do mal, a maior de todas as pretensões é falar francamente do bem. O que é levado a mal, e creio, com justiça, na grande literatura moderna da qual Ibsen é um exemplo típico, é que embora o olhar que percebe as coisas erradas cresça com clareza inquietante e devastadora, o olhar que percebe as coisas certas fica cada vez mais nebuloso, a ponto de quase ficar cego pela dúvida. Se compararmos, digamos, a moralidade de A Divina Comédia com a moralidade de Os espectros36 de Ibsen, veremos o que realmente tem feito toda a ética moderna. Ninguém, imagino, acusará o autor do Inferno de mostrar a hipocrisia vitoriana ou um vitoriano otimismo podsnapiano.37 Mas Dante descreve três instrumentos morais: Céu, Purgatório e Inferno – a visão da perfeição, a visão do aprimoramento e a visão do fracasso. Ibsen tem apenas um – o Inferno. Muitas vezes é dito, com absoluta verdade, que ninguém pode ler uma peça como Os espectros e ficar indiferente à necessidade de um autocontrole ético. Isso é verdade, e o mesmo deve ser dito da maioria das descrições materiais e monstruosas do fogo eterno. É certo que realistas, como Zola, promovem, em certo sentido, a moralidade – promovem-na no sentido em que o carrasco a promove, no sentido em que o demônio a promove. Mas somente atinge aquela pequena minoria que aceitará qualquer virtude de coragem. A maioria das pessoas saudáveis despreza esses perigos morais, tal como desprezam a possibilidade das bombas e dos micróbios. Os realistas modernos são, de fato, terroristas, como os dinamitadores, e fracassam igualmente nos esforços de criar sensações. Tanto realistas quanto dinamitadores são pessoas bem-intencionadas, envolvidas na tarefa, em última instância obviamente impossível, de usar a ciência para promover a moralidade.
Não desejo que o leitor me confunda, nem por um momento, com aquelas pessoas incertas que imaginam que Ibsen é aquilo que chamam de pessimista. Há muitas personagens saudáveis em Ibsen, muitas pessoas boas, muitas pessoas felizes, muitos exemplos de homens agindo sabiamente e coisas terminando bem. Não é isso o que quero dizer. O que digo é que Ibsen tem do começo ao fim, e não consegue disfarçar, certa ambigüidade, uma atitude cambiante e duvidosa no que se refere ao que é realmente sabedoria e virtude nesta vida – uma ambigüidade que extraordinariamente contrasta com a determinação com que ataca aquilo que percebe ser a raiz do mal, seja uma convenção, um engano ou alguma ignorância. Sabemos que o herói de Os espectros é louco e sabemos por que ele é assim. Sabemos também que Dr Stockman38 é saudável, mas não sabemos por que ele é assim. Ibsen não afirma saber como se produz a virtude e a felicidade, na medida em que afirma saber como se produzem nossas tragédias sexuais modernas. A falsidade produz ruínas em Os Pilares da Sociedade,39 mas a verdade também produz ruínas em O Pato Selvagem.40 Não há virtudes cardeais no ibsenismo. Não há homem ideal em Ibsen. Tudo isso não só é admitido, como também é alardeado, em A quintessência do ibsenismo41 do Sr Bernard Shaw, o mais valioso e profundo elogio a Ibsen. O Sr Shaw resumiu o ensinamento de Ibsen naquela frase, “A regra de ouro é que não há regra de ouro”. Aos olhos do Sr Shaw, a ausência de um ideal durável e positivo, a ausência de um código permanente para a virtude, é o grande mérito de Ibsen. Não discuto, nesse instante, se isso é totalmente assim ou não. Atrevo-me a observar, com reforçada firmeza, que tal omissão, boa ou má, nos deixa face a face com o problema de uma consciência humana repleta de imagens muito bem definidas do mal e sem qualquer imagem definida do bem. Para nós, a luz deve ser, daqui em diante, algo de obscuro – uma coisa de que não podemos falar. Para nós, como para os demônios de Milton no Pandemônio,42 é a escuridão que é visível. A raça humana, segundo a religião, caiu uma vez, e ao cair conheceu o bem e o mal. Agora decaímos uma segunda vez, e somente o conhecimento do mal permanece conosco.
Um grande colapso silencioso, um enorme e indizível dissabor, recaiu, em nossos dias, sobre a civilização do hemisfério norte. Todas as eras anteriores derramaram suor e foram crucificadas na tentativa de compreender a vida verdadeiramente correta, o que realmente era o homem bom. Uma determinada parcela do mundo moderno chegou à conclusão, sem qualquer sombra de dúvida, de que não há resposta para tais questionamentos, e que o máximo que podemos fazer é colocar alguns quadros de aviso nos lugares em que o perigo é óbvio, para alertar os homens, por exemplo, contra a embriaguez até a morte, ou para adverti-los, caso não levem em conta a simples existência do próximo. Ibsen é o primeiro a retornar dessa desnorteada caçada e nos traz notícias de um grande fracasso.
Todos os ideais e expressões populares modernos são uma evasão para evitar o problema do que é o bem. Gostamos de falar de “liberdade”, ou seja, temos um pretexto para evitar discutir o que é bom. Gostamos de falar do “progresso”, ou seja, temos um pretexto para evitar discutir o que é bom. Gostamos de falar de “educação”, ou seja, temos um pretexto para evitar discutir o que é bom. O homem moderno diz: “Deixemos de lado todos os padrões arbitrários e abracemos a liberdade”. Caso isto seja logicamente compreendido, significa: “Não decidamos o que é bom, mas deixemos que seja considerado bom não decidir”. Diz também: “Fora com nossa antiga fórmula moral; sou pelo progresso”. Isso, logicamente compreendido, significa: “Não fixemos o que é bom; mas estabeleçamos se vamos receber mais do mesmo”. Diz ainda: “Não é nem na religião nem na moral, meu amigo, que repousa a esperança da raça, mas na educação”. Isso, claramente expresso, significa: “Não podemos decidir o que é bom, mas deixemos que seja dado aos nossos filhos”.
O Sr H.G. Wells,43 que é um homem de extraordinário discernimento, ressaltou num recente trabalho que isso aconteceu por questões econômicas. Os velhos economistas, diz ele, fizeram generalizações, e estas estavam (na visão do Sr Wells) erradas, em grande maioria. Mas os novos economistas, diz ele, parecem ter perdido o poder de fazer qualquer generalização. E ocultam tal incapacidade ao apresentar a tese geral de que são, em casos específicos, “especialistas” – uma alegação “suficientemente própria para um cabeleireiro ou um médico da moda, mas indecente para um filósofo ou um homem de ciência”.44 No entanto, apesar da animadora racionalidade com que o Sr Wells faz tal observação, podemos dizer que até ele caiu no mesmo grande erro moderno. Nas primeiras páginas do excelente livro Mankind in the Making,45 despreza os ideais da arte, religião, moralidade abstrata e tudo mais, e diz que vai considerar o homem no seu principal propósito, a função de paternidade (ou maternidade). Discutirá a vida como um “emaranhado de nascimentos”. Não indagará o que fará surgir santos ou heróis satisfatórios, mas o que fará surgir pais e mães satisfatórios. Tudo é apresentado de modo tão sensível que levará alguns minutos até que o leitor se dê conta de que isso é outro exemplo de evasão inconsciente. Como saber qual é o bem em gerar um homem até que tenhamos compreendido qual é o bem em ser um homem? Estamos apenas passando ao leitor um problema que nós mesmos não ousamos resolver. É como se alguém fosse perguntado: “Para que serve um martelo?”, e a pessoa respondesse: “Para fazer martelos”; e quando lhe fosse perguntado: “E esses outros martelos, para que servem?”, tal pessoa respondesse: “Para fazer outros martelos”. Esse homem estaria perpetuamente evitando a questão do supremo uso da carpintaria. Da mesma forma, o Sr Wells e todos os demais, pelo bom uso dessas expressões, evitam a questão do valor último da vida humana.
O exemplo do discurso geral sobre “progresso” é, de fato, extremo. Como enunciado nos dias de hoje, o “progresso” é simplesmente um comparativo do qual não determinamos o superlativo. Opomos cada ideal de religião, patriotismo, beleza, prazer sensual ao ideal alternativo do progresso – isto é, contrapomos cada proposta de conseguir algo do que conhecemos com a proposta alternativa de obter muito mais daquilo que ninguém conhece. O progresso, devidamente compreendido, tem, de fato, um significado muito digno e legítimo. Mas, se usado em contraposição a ideais morais definidos, se torna absurdo. Assim, mesmo não sendo verdade que o ideal de progresso deva ser confrontado com a finalidade ética ou religiosa, o inverso é verdadeiro. Ninguém pode usar a palavra “progresso” a menos que tenha um credo definido e um rígido código moral. Ninguém pode ser progressista sem ser doutrinal. Quase poderia dizer que ninguém pode ser progressista sem ser infalível – de qualquer forma, sem acreditar em certa infalibilidade. Pois o progresso, pelo próprio nome, indica uma direção; e no momento em que temos a mais ínfima dúvida sobre qual direção tomar, ficamos, da mesma forma, em dúvida sobre o progresso. Talvez, desde o começo do mundo, nunca tenha havido um período com menos direito de usar a palavra “progresso” do que o nosso. No católico século XII, no filosófico século XVIII, a direção pode ter sido boa ou ruim, os homens podem ter discordado mais ou menos a respeito do quanto progrediram, e em qual direção, mas, no geral, concordavam a respeito da direção tomada, e conseqüentemente tinham a genuína sensação de progresso. Todavia, discordamos exatamente sobre a direção. Se a futura excelência reside em ter mais ou menos leis, em ter mais ou menos liberdade; se a propriedade será finalmente concentrada ou finalmente dividida; se a paixão sexual alcançará um patamar saudável num intelectualismo quase virgem ou numa completa liberdade animal; se devemos amar a todos com Tolstói46 ou se não devemos poupar ninguém como Nietzsche;47 – é a respeito dessas coisas que lutamos hoje em dia. Não só é verdade que a época que menos determinou o que é o progresso seja a mais “progressista” das épocas, como, aliás, é verdadeiro que o povo que menos estabeleceu o que é o progresso seja o povo mais “progressista”. À massa comum, aos homens que nunca se preocuparam com o progresso, talvez possa ser confiado o progresso. Os indivíduos particulares que falam sobre o progresso correriam para os quatro cantos do mundo quando o disparo do tiro assinalasse o começo da corrida. Não digo, portanto, que a palavra “progresso” não tenha significado; digo que não tem significado sem a definição prévia de uma doutrina moral, e que tal definição só pode ser aplicada a grupos de pessoas que mantenham uma doutrina comum. O progresso não é uma palavra ilegítima, mas parece ser logicamente evidente que é ilegítima para nós. É uma palavra sagrada, uma palavra que só poderia ser usada acertadamente pelos crentes fervorosos e nas eras de fé.
27 Robert Louis Stevenson (1850–1894), romancista e poeta escocês, autor de clássicos como A ilha do tesouro (1883) e O médico e o monstro (1886).
28 Citação de um trecho do ensaio “Pulvis et Umbra” de Robert Louis Stevenson (1850–1894), que apareceu na obra Across the Plains em 1892. Em inglês, o trecho seria: “Still obscurely fighting the lost fight of virtue, still clinging, in the brothel or on the scaffold, to some rag of honour, the poor jewel of the souls!”.
29 Rua no bairro financeiro de Londres.
30 George William Foote (1850–1915) foi um livre-pensador secularista que exerceu grande influência no movimento inglês dos freethinkers. Em 1882, foi acusado de blasfêmia por publicar várias charges de temas bíblicos e preso em 1883. Após doze meses de prisão, foi libertado e considerado, até o fim da vida, um herói para os círculos dos livres-pensadores.
31 Provavelmente Chesterton se refere aos convidados embriagados citados na passagem das Bodas de Caná em Jo 2, 10.
32 Henrik Johan Ibsen (1828–1906) foi um dramaturgo norueguês, considerado um dos criadores do teatro realista moderno.
33 Henry René Albert Guy de Maupassant (1850–1893) foi um escritor e poeta francês. Apreciava as situações psicológicas e de crítica social; para isso, utilizava a técnica naturalista. Foi amigo de Gustave Flaubert (1821–1880).
34 Émile-Édouard-Charles-Antoine Zola (1840–1902), ou simplesmente Émile Zola, foi um consagrado escritor francês, considerado criador e representante mais expressivo da escola literária naturalista, além de uma importante figura libertária da França.
35 Em inglês, “to call a spade a spade”, literalmente, “chamar uma pá de pá”, ou seja, chamar as coisas pelo próprio nome. Como Chesterton utilizou um provérbio para expressar sua idéia, decidimos substituir por um provérbio em língua portuguesa de sentido equivalente.
36 Peça teatral de 1881. Critica o senso de dever e a hipocrisia da moral burguesa, a instituição do casamento, o cristianismo e lida com temáticas como alcoolismo, doenças venéreas e eutanásia. No Brasil, em 1895, a peça foi recebida com críticas por “defender o amor livre”.
37 O Sr Podsnap é uma personagem de Charles Dickens (1812–1870), usada para fazer uma ácida crítica à alta classe média inglesa da era vitoriana na obra Our Mutual Friend. A obra, bastante admirada por Chesterton, foi publicada em folhetins entre maio de 1864 e novembro de 1865. Presunçoso, pomposo e cheio de si, Dickens dedica um capítulo inteiro da obra para descrevê-lo (capítulo 11).
38 Personagem da peça O inimigo do povo de 1882. O médico, cidadão honrado, constata que a qualidade das águas da cidade balneária da Noruega onde residia era péssima. A divulgação desse fato acabaria com o turismo local, mas o médico insiste em fazer prevalecer a verdade. Isso o torna detestado por todos e o transforma em inimigo do povo; contudo, permanece sustentando a verdade até o fim.
39 Peça de 1877 que também ataca a falência da moral e dos costumes. Ao final, a personagem Lona Hessel conclui dizendo que “o espírito da verdade e o espírito da liberdade – são eles os pilares da sociedade”.
40 Peça de 1884. Reúne elementos de mistério durante um jantar na casa de um rico industrial. Nessa noite se descobre um sórdido cenário de falsidades e manipulações que culminará na morte da menina Hedvig. Ambições, fraquezas, leviandades, egoísmos e radicalismos vão sendo descobertos e a única solução para vencer tais males é a redenção da mentira pelo diálogo franco.
41 Obra crítica de George Bernard Shaw (1856–1950), de 1891, escrita em resposta às controvérsias surgidas a partir da apresentação das peças de Ibsen nos palcos de Londres no final da década de 1880. Vale acrescentar que, nesta obra, Shaw se apropria ideologicamente de Ibsen e o vê como um arauto da “libertação individualista”, atribuindo-lhe exageradamente uma importância maior que a de Shakespeare no teatro.
42 Capital do inferno que significa “o lugar de todos os demônios”. No poema épico de 1667, Paraíso Perdido, o profundo inferno é descrito da seguinte forma: “A terrível mansão, torva, espantosa / Prisão de horror que imensa se arredonda / Ardendo como amplíssima fornalha. / Mas luz nenhuma dessas flamas se ergue; / Vertem somente escuridão visível” (canto I, versos 79–83).
43 Herbert George Wells (1866–1946), conhecido como H.G. Wells, foi um escritor britânico e membro da Sociedade Fabiana, a quem Chesterton dedica o capítulo V do presente livro.
44 Citação do livro A Modern Utopia, de 1905, no capítulo 3, seção 3, onde H.G. Wells trata dos economistas utópicos.
45 Publicado em 1903, a obra foi escrita como continuação de Anticipations (1901). O livro apresenta uma teoria geral para o desenvolvimento social e a conduta política. A tese central é a defesa de um estado científico e eficiente, e, dentre as previsões para o futuro, vale citar a crença de que as mudanças morais dos próximos cem anos se dariam na mesma proporção das mudanças mecânicas ocorridas no centenário anterior. Além dessa defesa, ridiculariza o conceito positivista de eugenia criado por Francis Galton (1822–1911) e defende a expansão de políticas educacionais, pois crê que a educação seja o melhor método para melhorar a qualidade da raça humana.
46 Liev Nikoláievich Tolstói (1828–1910) foi um dos grandes escritores russos. No fim da vida se tornou um pacifista e pregou uma vida simples em contato com a natureza. Para conferir a opinião de Chesterton sobre este autor, ver capítulo X deste livro.
47 Friedrich Nietzsche (1844–1900) foi um filósofo alemão que criticou a cultura ocidental e a moral judaico-cristã. Pregou uma nova genealogia de valores para desmascarar os preconceitos e ilusões do gênero humano. Entre as novas virtudes de Nietzsche estão, por exemplo, o orgulho, o amor sexual, a inimizade, a vontade inabalável, a disciplina da intelectualidade superior e a vontade de poder.
CAPÍTULO III
O Sr Rudyard Kipling e a
criação de um mundo menor
NÃO HÁ, NA TERRA, assunto desinteressante; a única coisa que existe são pessoas desinteressadas. Nada é tão necessário quanto a defesa das pessoas enfadonhas. Quando Byron48 dividiu a humanidade em entediantes e entediados,49 deixou de notar que as mais altas qualidades estão totalmente presentes nos entediantes e as mais baixas, nos entediados, entre os quais se incluía. O entediante, pelo brilhante entusiasmo, pela solene felicidade, pode, de alguma forma, ter se tornado poético. O entediado, certamente, provou ser banal.
Podemos, sem dúvida, considerar um estorvo contar todas as folhas de grama ou as folhas das árvores; não por ousadia ou alegria, mas pela falta de ousadia ou alegria. O entediante seguiria em frente, ousado e alegre, e consideraria as folhas de grama tão esplêndidas quanto as espadas de um exército.50 O entediante é mais forte e mais feliz do que somos; é um semideus – não, é um deus. Pois os deuses não se cansam da repetição das coisas. Para eles, o entardecer é sempre novo, e a última rosa é tão vermelha quanto a primeira.
O sentimento de que tudo é poético é algo consistente e absoluto, não mera questão de fraseologia ou persuasão. Não é simplesmente verdade, é algo determinável. Os homens podem ser incitados a negá-lo; podem ser provocados a mencionar qualquer coisa que não seja uma questão de poesia. Lembro-me que, há muito tempo, um sensato editor assistente se aproximou de mim com um livro nas mãos intitulado “Sr Smith” ou “A família Smith”, ou algo parecido. Disse-me: “Bem, creio que não descobrirás neste livro nada do teu miserável misticismo”, ou coisa semelhante. Fico contente em dizer que o decepcionei; mas a vitória foi tão óbvia e fácil! Na maioria dos casos, o nome não é poético, mas o fato o é. No caso de Smith, o nome é tão poético que deve ser árdua e heróica a tarefa de viver à sua altura. O nome de Smith é o nome de uma profissão51 respeitada até mesmo por reis, um nome que pode reivindicar metade da glória da arma virumque52 que todos os épicos aclamaram. O espírito do ferreiro está tão próximo do espírito da canção que se mesclaram em milhões de poemas, e cada ferreiro é um harmonioso ferreiro.
Até as crianças do vilarejo sentem que, de uma forma um tanto obscura, o ferreiro é poético – como não o são o dono da mercearia e o sapateiro – ao dançar em meio a fagulhas e ensurdecedoras marteladas na gruta da violência criativa. O repositório bruto da natureza, a apaixonada capacidade do homem, o mais resistente dos metais da Terra, o mais estranho dos elementos da Terra, o inconquistável ferro subjugado pelo único conquistador, a roda e o arado, a espada e o martelo a vapor, as armaduras militares e todas as lendas de lutas armadas, todas essas coisas estão escritas – brevemente, é verdade, mas bem legíveis – no cartão de visitas do Sr Smith. Mesmo assim, nossos romancistas chamam seus heróis de “Aylmer Valence”, que nada significa, ou ainda “Vernon Raymond”, que também nada significa, quando está ao alcance deles dar o nome sagrado de Smith – nome feito de ferro e fogo. Seria natural que certa nobreza, certo maneio de cabeça, certo gesto nos lábios, distinguisse cada um dos que trazem o nome de Smith. Talvez assim seja; creio que sim. Quem quer que sejam os novos-ricos, os Smiths não o são. Desde a mais obscura aurora da história, esse clã se lançou na batalha; seus troféus estão em cada mão; seu nome está em todo o lugar; é mais antigo que as nações e seu símbolo é o martelo de Thor.
Mas, como também mencionei, esse não é bem o caso. É muito comum que coisas comuns sejam poéticas; não é tão comum que nomes comuns sejam poéticos. Na maioria dos casos, o nome é o obstáculo. Muitas pessoas falam como se a afirmação de que todas as coisas são poéticas fosse mera criatividade literária, um jogo de palavras. O oposto é a mais pura verdade. A idéia de que algumas coisas não são poéticas é que é literária – isso é que é mero produto das palavras. O nome “cabina de sinaleiro”53 não é poético. Mas a coisa cabina de sinaleiro é poética. É um local onde homens, na agonia da vigilância, acendem luzes vermelho-sangue e verde-mar a fim de evitar a morte de outros homens. Essa é a descrição pura e simples do que é a palavra; a prosa só aparece no que é nomeado. O nome “caixa de correio”54 não é poético. Mas a coisa caixa de correio o é; é o lugar a que amigos e amantes confiam mensagens, conscientes de que quando assim o fazem, serão sagradas e não poderão ser tocadas, não apenas por outros, mas nem (retoque consciencioso!) por eles mesmos. A torre vermelha55 é um dos derradeiros templos. Postar uma carta e casar estão entre as poucas coisas totalmente românticas; pois para ser completamente romântica, a coisa deve ser irrevogável. Acreditamos que a caixa de correio é trivial, porque não há rima. Pensamos que a caixa de correio não é poética, porque nunca a vimos num poema. Mas a audácia está inteiramente do lado da poesia. Uma cabina de sinaleiro só é chamada de cabina de sinaleiro; é a casa da vida e da morte. Uma caixa de correio só é chamada de caixa de correio; é um santuário de palavras humanas. Achar o nome “Smith” banal não é ser prático ou razoável; é estar excessivamente afetado por refinamentos literários. O nome brada poesia. Achar o contrário é estar impregnado, encharcado de reminiscências verbais, é lembrar da Punch56 ou das tirinhas cômicas sobre o Sr Smith como bêbado ou como o marido intimidado. Todas essas coisas nos foram dadas de forma poética e apenas por um longo e elaborado processo de esforço literário é que se tornaram prosaicos.
Bem, a primeira coisa, e a mais justa, a dizer sobre Rudyard Kipling é que assumiu um brilhante papel ao recuperar as províncias perdidas da poesia. Não se atemorizou pela brutal atmosfera materialista que se apega somente às palavras; penetrou na substância romântica e imaginativa das próprias coisas. Percebeu a significância e a filosofia do vapor e da gíria. O vapor pode ser considerado, se quisermos, um vil subproduto da ciência. A gíria pode ser considerada um vil subproduto da linguagem. Mas, ao menos, ele está entre os poucos que perceberam o divino parentesco de tais coisas, e soube que onde há fumaça há fogo – isto é, que onde estão as coisas mais infectas, também estão as mais puras. Sobretudo, tinha algo a dizer, uma visão precisa do que falava, e isso sempre quer dizer que tal homem é destemido e enfrenta tudo. No momento em que temos uma visão do universo, nós o possuímos.
Já a mensagem de Rudyard Kipling, aquela sobre a qual realmente se concentrou, é a única coisa a seu respeito, ou a respeito de qualquer outro homem, com que vale a pena se preocupar. Sempre escreveu má poesia, assim como Wordsworth.57 Muitas vezes dizia tolices, assim como Platão. Amiúde cedia à mera histeria política, assim como Gladstone.58 Mas não podemos duvidar que desejou, de forma firme e sincera, exprimir algo. A única pergunta séria é: o que tentou dizer? Talvez, a melhor e mais justa forma de expressar o que digo seja começar com aquele elemento sobre o qual ele mesmo e seus oponentes mais persistiram em afirmar – digo, o interesse pelo militarismo. Mas, quando buscamos os verdadeiros méritos de um homem, é insensato ouvir seus inimigos, e muito mais tolo ouvir o próprio homem.
Ora, o Sr Kipling certamente está errado na adoração ao militarismo. Todavia, seus opositores estão, no geral, tão errados quanto ele. O mal do militarismo não está em mostrar para alguns homens como ser violentos, presunçosos e excessivamente belicosos. O mal do militarismo está em demonstrar à maioria dos homens que devem ser mansos, tímidos e excessivamente pacificáveis. O soldado profissional ganha cada vez mais poder à medida que a coragem geral da comunidade declina. Assim, a guarda pretoriana se tornou cada vez mais importante em Roma à medida que Roma se tornava mais luxuosa e débil. O militar ganha o poder civil à proporção que o civil perde as virtudes militares. Assim como aconteceu na Roma antiga, acontece na Europa atual. Nunca houve tempo em que as nações fossem mais militaristas. Nunca houve tempo em que os homens fossem tão pouco corajosos. Todas as eras e todos os épicos cantaram as armas e o homem; mas conseguimos, simultaneamente, a deterioração do homem e a fantástica perfeição das armas. O militarismo demonstrou a decadência de Roma e demonstra a decadência da Prússia.59
Inconscientemente, o Sr Kipling provou isso, e de modo admirável. Pois, uma vez que sua obra seja seriamente entendida, a questão militar não emerge, de forma alguma, como a coisa mais importante ou atrativa. Não escreveu tão bem sobre soldados quanto o fizera sobre ferroviários ou construtores de pontes, ou mesmo jornalistas. Fato é que aquilo que atrai o Sr Kipling ao militarismo não é a idéia de coragem, mas a idéia de disciplina. Havia muito mais coragem por quilômetro quadrado na Idade Média, quando os reis não tinham um exército permanente, no entanto todo homem tinha um arco e flecha ou uma espada. Todavia, o que fascina o Sr Kipling num exército permanente não é a coragem, que pouco lhe interessa, mas a disciplina, que é, afinal, seu tema principal. O exército moderno não é um milagre de coragem; não tem oportunidades suficientes devido à covardia dos demais, mas é, realmente, um milagre da organização. Este é, verdadeiramente, o ideal kiplinguiano. O tema de Kipling não é a bravura que se relaciona propriamente à guerra, mas a interdependência e eficiência que se relaciona tanto à guerra quanto aos engenheiros, aos marinheiros, às mulas ou às composições ferroviárias. E assim, quando escreve sobre engenheiros, marinheiros, mulas e máquinas a vapor, faz o que há de melhor. A poesia autêntica, o “verdadeiro romance” que o Sr Kipling ensina, é o romance da divisão de trabalho e da disciplina dos negócios. Canta as artes da paz com maior precisão do que as artes da guerra. E sua tese principal é vital e valiosa. Tudo é militar, no sentido de que cada coisa depende da obediência. Não há nenhum nicho perfeitamente epicurista; não há lugar perfeitamente irresponsável. Em todos os lugares, os homens desbravaram, para nós, os caminhos, com suor e submissão. Podemos nos lançar numa rede de dormir num acesso de sublime desatenção. Mas temos sorte do fabricante da rede não tê-la fabricado com sublime desatenção. Podemos pular num cavalinho de balanço, por brincadeira, mas temos sorte de o carpinteiro não ter deixado de colar as pernas do cavalo, por brincadeira. Longe de ter simplesmente proclamado que o soldado que limpa sua arma merece adoração por ser militar, Kipling, no melhor de seus momentos, apregoou que o padeiro assando pães e o costureiro cortando tecidos são tão militares quanto qualquer pessoa.
Por ser devoto de uma múltipla visão de responsabilidade, o Sr Kipling é naturalmente um cosmopolita. Acaba por encontrar seus exemplos no Império Britânico, mas qualquer outro império, ou, por certo, qualquer outro país altamente civilizado serviria. O que admira no exército britânico, encontraria de forma ainda mais aparente no exército alemão; aquilo que deseja na polícia britânica, encontraria a prosperar na polícia francesa. O ideal de disciplina não é a totalidade da vida, mas se difundiu no mundo todo. Tal culto tende a confirmar, no Sr Kipling, certa nota de sabedoria mundana, algo da experiência de andarilho, que é um dos verdadeiros encantos do melhor de sua obra.
A grande lacuna em seu intelecto pode ser chamada, grosso modo, de falta de patriotismo – isto é, não há nele a faculdade de aderir, trágica ou derradeiramente, a alguma causa ou comunidade, pois toda finalidade deve ser trágica. Admira a Inglaterra, mas não a ama, pois admiramos as coisas por razões, mas as amamos irracionalmente. Admira a Inglaterra por ser forte, não por ser inglesa. Não há nenhuma severidade no que digo, pois, para fazer-lhe justiça, confessa isso com usual e pitoresca simplicidade. Num poema muito interessante, diz que: “Se a Inglaterra fosse o que parece” – isto é, fraca e ineficiente; se a Inglaterra fosse não o que (como crê) é – isto é, poderosa e prática – “Com que rapidez a teríamos desprezado! Mas ela não é!”60
Admite que sua devoção é resultado da crítica, e isso é o bastante para colocá-la numa categoria completamente diferente do patriotismo dos bôeres,61 os quais perseguiu na África do Sul. Ao falar de povos realmente patrióticos, como o irlandês, o Sr Kipling tem alguma dificuldade em evitar a extrema irritação na escolha da linguagem. O estado de espírito que realmente descreve com beleza e nobreza é o do cosmopolita que viu homens e cidades.
Para admirar e para ver,
Para contemplar tão vasto mundo.62
É o mestre perfeito da suave melancolia com que um homem recorda ter sido cidadão de muitas comunidades, da suave melancolia com que o homem relembra ter sido amante de muitas mulheres. É o galanteador das nações. Mas um homem pode ter aprendido muito sobre mulheres nos flertes, e ainda ser ignorante acerca do primeiro amor; um homem pode ter conhecido muitas terras como Ulisses, mas ainda ser ignorante acerca do patriotismo.
O Sr Rudyard Kipling pergunta num célebre epigrama o que podem conhecer a respeito da Inglaterra aqueles que só conhecem a Inglaterra.63 Contudo, há uma questão ainda mais pungente e profunda: “O que pode conhecer a respeito da Inglaterra quem só conhece o mundo?”, pois o mundo não inclui a Inglaterra mais do que inclui a Igreja. No momento em que nos preocupamos profundamente com alguma coisa, o mundo – isto é, todos os outros variados interesses – se torna um inimigo. Os cristãos demonstram isso ao falar de si mesmos como “conservados puros da corrupção deste mundo”;64 mas os amantes também expressam a mesma idéia ao falar em “perder o mundo por amor”.65 Astronomicamente, percebo que a Inglaterra faz parte do mundo; da mesma forma, suponho que a Igreja faça parte do mundo, e até mesmo os amantes que habitam esta órbita. Mas todos sentem certa verdade – a verdade de que no momento em que amam alguma coisa, o mundo se torna adversário. Assim, o Sr Kipling certamente conhece o mundo; ele é um homem do mundo, com toda a limitação dos que estão aprisionados neste planeta. Conhece a Inglaterra como um cavalheiro inglês inteligente conhece Veneza. Já esteve na Inglaterra muitas vezes; já a visitou por longos períodos, mas não pertence a ela, ou não pertence a qualquer outro lugar. A prova disso é que pensa na Inglaterra como um lugar. No momento em que nos enraizamos num lugar, a circunstância desaparece. Vivemos como uma árvore, com toda a força do universo.
O excursionista vive num mundo menor que o do camponês. Sempre respira um ar de localidade. Londres é um lugar a ser comparado com Chicago; Chicago é um lugar a ser comparado com Tombuctu.66 Mas Tombuctu não é um lugar, pois lá, ao menos, vivem homens que o consideram como o universo, e respiram, não um ar de localidade, mas os ventos do mundo. O homem no salão do navio a vapor viu todas as raças de homens, e pensa nas coisas que os dividem – dieta; vestimenta; compostura; anéis no nariz, como na África; ou nas orelhas, como na Europa; a cor azul como entre os antigos; ou a vermelha dos britânicos modernos.67 O homem na plantação de repolho não viu absolutamente nada; mas pensa nas coisas que unem os homens – a fome e os bebês, a beleza das mulheres e a promessa ou a ameaça do Céu. O Sr Kipling, com todos os méritos, é um vagamundo; não tem a paciência de se tornar membro de coisa alguma. Um homem tão eminente e genuíno não pode ser acusado de mero e cínico cosmopolitismo. Mesmo assim, o cosmopolitismo é a sua fraqueza. Essa fraqueza está esplendidamente expressa num de seus melhores poemas, The Sestina of the Tramp Royal,68 em que um homem declara poder suportar tudo em termos de fome e horror, mas não a presença permanente num só lugar. Certamente, há perigo nisso. Quanto mais morta, seca e empoeirada é uma coisa, mais ela viaja por aí. Isso acontece com a poeira, com a lanugem do cardo e com o Alto Comissariado na África do Sul. As coisas férteis são um pouco mais pesadas, como os pesados frutos das árvores na lama fértil do Nilo. No calor indolente da juventude, estamos todos predispostos a discutir as implicações daquele provérbio que diz que “pedra que muito rola não cria limo”.69 Estávamos inclinados a perguntar: “Quem quer criar limo, a não ser tolas senhoras idosas?” Por isso, começamos a perceber que o provérbio está certo. As pedras rolam, fazendo barulho de pedra em pedra, mas a pedra que rola está morta. O limo é silencioso porque está vivo.
A verdade é que exploração e expansão tornam o mundo menor. O telégrafo e o barco a vapor tornam o mundo menor. O telescópio torna o mundo menor; somente o microscópio o torna maior. Em pouco tempo, o mundo estará dividido numa guerra entre os telescopistas e os microscopistas. Os primeiros estudam as coisas grandes e vivem num mundo pequeno; os segundos estudam coisas pequenas e vivem num mundo enorme. Sem dúvida, é animador zunir ao redor do mundo num automóvel; sentir a Arábia como um redemoinho de areia e a China como uma torrente de campos de arroz. Mas a Arábia não é um redemoinho de areia, nem a China uma torrente de campos de arroz. São civilizações antigas com virtudes estranhas, virtudes enterradas como tesouros. Caso desejemos entendê-las, não deverá ser como turistas ou pesquisadores; deverá ser com a lealdade das crianças e a imensa paciência dos poetas. Conquistar esses lugares significa perdê-los. Um homem na sua horta, com um mundo encantado além do portão, é um homem com grandes idéias. Sua mente cria a distância; o automóvel estupidamente a destrói. Os modernos pensam a Terra como um globo, como algo que se pode facilmente circundar, com mentalidade de professora primária. Isso pode ser visto no estranho erro que sempre se comete a respeito de Cecil Rhodes.70 Os inimigos dizem que teve grandes idéias, mas era um homem mau. Os amigos dizem que foi um homem essencialmente mau, mas que, certamente, tinha grandes idéias. A verdade é que não era um homem essencialmente mau; era um homem muito jovial e de muito boas intenções, mas com pontos de vista excepcionalmente limitados. Não há nada de grandioso em riscar o mapa de vermelho;71 isso é um inocente jogo infantil. É tão fácil pensar em continentes assim como pensar em paralelepípedos. A dificuldade surge quando procuramos conhecer a substância de cada um. As profecias de Rhodes sobre a resistência dos bôeres72 constituem um admirável comentário sobre como progridem as “grandes idéias” quando não se trata de pensar em continentes, mas de entender uns poucos homens bípedes. E debaixo de toda a imensa ilusão do planeta cosmopolita, com seus impérios e agências Reuters,73 a vida real do homem segue se interessando por esta árvore e por aquele templo, por esta colheita ou por aquela canção de taverna, completamente incompreendida, totalmente intocada. E observa, do alto de seu esplêndido provincianismo, possivelmente com um sorriso divertido, a civilização do automóvel de estilo triunfante, superando o tempo, consumindo o espaço, vendo tudo e não vendo nada, rugindo para conquistar, por fim, o sistema solar, somente para descobrir que o sol é londrino e as estrelas, suburbanas.
48 George Gordon Byron (1788–1824), 6º Barão Byron, mais conhecido como Lorde Byron, foi um destacado poeta britânico e uma das figuras mais influentes do Romantismo.
49 “Society is now one polish’d horde, / Form’d of two mighty tribes, the Bores and Bored.” Don Juan, Canto XIII, estrofe 95.
50 A imagem em inglês faz sentido, pois a palavra usada para designar a folha da grama é blade, que também significa “lâmina” ou “espada”.
51 Ferreiro, forjador.
52 Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris. Canto 1, verso 1 da Eneida de Virgílio (70 a.C.–19 a.C.), que quer dizer “Canto às armas e o homem que primeiro [veio] da terra de Tróia”.
53 Cabine de comando de sinal, para controle de tráfego ferroviário.
54 No inglês britânico, significa caixa de correio ou marco postal e o nome, em inglês, se deve ao formato cilíndrico, como um pilar.
55 Referência ao formato e cor das caixas de correio inglesas.
56 Revista semanal britânica de humor e sátira publicada de 1841 a 1992.
57 William Wordsworth (1770–1850) foi um dos maiores poetas românticos ingleses.
58 William Ewart Gladstone (1809–1898) foi um eminente político liberal britânico que ocupou vários cargos no governo, dentre eles o de primeiro-ministro por quatro vezes.
59 Referência à política do imperador Guilherme II da Prússia (1859–1941), um entusiasta do militarismo, que na década de 1890 havia se desentendido com a Inglaterra por colônias na África e, por isso, travou aproximações com a França (1904). O atrito com os franceses levou à crise do Marrocos (1905) e à aproximação com a Rússia (1905). Sobre a visão de Chesterton a respeito da Prússia, ver o último de seus escritos: The End of the Armistice, editado postumamente em 1940.
60 Versos tirados da última estrofe do poema “The Return”, do livro The Five Nations de 1903. Em inglês: “If England was what England seems / An’ not the England of our dreams / But only putty, brass an’paint / How quick we’d chuck’er! But she ain’t!”.
61 Os bôeres (também denominados africânderes) são descendentes de colonos calvinistas dos Países Baixos e também da Alemanha e França. Estabeleceram residência na África do Sul nos séculos XVII e XVIII, e a colonização da região foi disputada com os britânicos. Duas possessões se destacaram nessa luta, a saber, o Estado Livre de Orange e a República de Transvaal, que travaram guerra com o Reino Unido no final do século XIX e início do século XX (Primeira e Segunda Guerra dos Bôeres). Desenvolveram uma língua própria, o africâner, derivado do neerlandês com influências limitadas de línguas indígenas, do malaio e do inglês. Atualmente, o africâner é uma das onze línguas oficiais da África do Sul.
62 Do poema “For to admire” do livro The Seven Seas de 1896 e reproduzido na segunda parte da coletânea Barrack-Room Ballads, também de 1896. O poema foi dedicado à cidade de Bombaim. No original: “For to admire an’for to see, / For to be’old this world so wide”. A estrofe completa é: “For to admire an’for to see, / For to be’old this world so wide – / It never done no good to me, / But I can’t drop it if I tried!”
63 Referência aos últimos versos da primeira estrofe do poema “The English Flag” de 1891 que apareceu pela primeira vez no dia 3 de abril de 1891 no St James’s Gazette e, posteriormente, no dia 1° de março de 1897, no Morning Post. O epigrama citado por Chesterton parece ter sido dito pela mãe de Kipling ao filho, que o reproduziu neste poema. Em inglês: “Winds of the World, give answer! They are whimpering to and fro – / And what should they know of England who only England know?”
64 Referência à epístola de São Tiago em Tg 1,27.
65 A idéia da incompatibilidade do amor romântico com a moral das convenções sociais era uma temática atraente e constante na poesia vitoriana, em especial na poesia romântica de Robert Browning (1812–1889). A expressão em inglês usada por Chesterton é “world well lost” que vem a aparecer na poesia de Browning.
66 Cidade africana, hoje localizada em Mali.
67 Referência à cor do uniforme do exército britânico.
68 Poema do livro The Seven Seas de 1896.
69 Tradução literal do provérbio inglês “a rolling stone gathers no moss”. Atribuída a autoria a Públio Siro (85 a.C.–43 a.C.), aparece pela primeira vez como provérbio em inglês no ano de 1546, creditado a Erasmo de Roterdã (1466–1536). Parece que a intenção original do provérbio era tomar o crescimento do limo como algo desejável e o nomadismo e a mobilidade como indesejáveis, porém a interpretação contemporânea o emprega para condenar a estagnação e enaltecer a mobilidade. Chesterton retoma o sentido originário da expressão.
70 Cecil John Rhodes (1853–1902), político e empresário inglês. Foi um dos responsáveis pela colonização britânica no sul do continente africano e um dos principais responsáveis pela Segunda Guerra dos Bôeres (1899–1902). Criou a Companhia Mineradora De Beers, uma das primeiras companhias de diamante do mundo, e traçou os limites da Rodésia (atual Zimbábue).
71 Referência à “linha vermelha” traçada no mapa africano por Rhodes juntamente com o ministro colonial britânico na África do Sul, que uniria o império do “Cabo ao Cairo” por vias férreas. No entanto, tal projeto nunca foi concretizado.
72 Rhodes havia dito que a força militar dos bôeres era “a maior bolha ainda não estourada que existia”.
73 Uma das maiores e mais antigas agências de notícias do mundo. Fundada em 1851, continua existindo até os dias de hoje em 204 cidades do mundo e em 19 idiomas.
CAPÍTULO IV
O Sr Bernard Shaw
NOS BONS E VELHOS TEMPOS, antes do aparecimento da moderna morbidez, quando o velho e genial Ibsen enchia o mundo com saudável alegria, e as delicadas lendas do esquecido Émile Zola nos mantinham felizes e puros ao pé da lareira, ser mal-entendido era considerado uma desvantagem. Podemos pôr em dúvida se é sempre, ou mesmo, em regra, uma desvantagem. O homem que é mal-entendido tem sempre esta vantagem sobre os inimigos: não conhecem seu ponto fraco ou seu plano estratégico. Saem para caçar pássaros com redes e para pescar com arco e flecha. Há diversos exemplos modernos dessa situação. O Sr Chamberlain,74 neste caso, é um exemplo muito bom. Constantemente ilude ou derrota os oponentes porque seus verdadeiros poderes e deficiências são muito diferentes daqueles que, amigos e inimigos, lhe creditam. Os amigos o descrevem como um tenaz homem de ação; os oponentes o descrevem como um rude homem de negócios; quando, de fato, não é nem uma coisa nem outra, mas um orador e um ator romântico admirável. Tem um poder que é a alma do melodrama – o poder de fingir estar, mesmo quando apoiado por uma enorme maioria, contra a parede. Visto que toda multidão é demasiado nobre, seus heróis devem carregar algum tipo de infortúnio – aquela espécie de hipocrisia que é a deferência que a força presta à fraqueza. Fala insensatamente, todavia, de forma muito elegante sobre a cidade natal que nunca o desamparou. Usa uma flor fantástica e flamejante, como um decadente poeta menor. Quanto à excessiva franqueza, tenacidade e as súplicas ao senso comum, tudo isso é, simplesmente, o primeiro truque da retórica. Encara a audiência com a venerável afetação de Marco Antônio:75
Não sou orador, como Brutus;
mas, como todos sabeis, sou um homem franco e simples.76
Os objetivos de um orador são completamente diferentes dos de qualquer outro artista, como o poeta ou o escultor. O objetivo do escultor é convencer-nos de que é um escultor; o objetivo de um orador é convencer-nos de que não é um orador. Uma vez que o Sr Chamberlain seja erroneamente tomado como um homem prático, seu jogo está ganho. Basta que faça um discurso sobre o Império e o povo dirá que esses homens simples dizem coisas eminentes em ocasiões eminentes. Basta que se deixe levar por grandes idéias indefinidas, comuns a todos os artistas de segunda categoria, e o povo dirá que homens de negócio têm, afinal, os maiores ideais. Todos os seus planos acabaram em fumaça; tudo o que toca acaba em confusão. Sobre esse tipo há um pathos77 celta; como os poemas gaélicos escoceses na citação de Matthew Arnold,78 “partia para a batalha, mas sempre era derrotado”.79 É uma montanha de propostas, uma montanha de fracassos; mas, ainda assim, uma montanha. E uma montanha é sempre romântica.
Há outro homem no mundo moderno que pode ser considerado como a antítese do Sr Chamberlain em todos os aspectos, e que é também um monumento permanente à vantagem de ser mal-entendido. O Sr Bernard Shaw é sempre representado por aqueles que dele discordam e, temo também, (se é que existem) por aqueles que com ele concordam, como um humorista travesso, um acrobata brilhante, um artista de múltiplas personagens. É dito que não se deve levá-lo a sério, que defenderá qualquer coisa e atacará qualquer coisa, que fará qualquer coisa para surpreender e divertir. Tudo isso não apenas é falso, mas, evidentemente, é o oposto da verdade. É tão insano quanto dizer que Dickens80 não tinha a impetuosa masculinidade de Jane Austen.81 Toda a força e triunfo do Sr Bernard Shaw repousa no fato de ele ser um homem inteiramente consistente. Assim, longe de seu poder consistir em saltar por argolas ou ficar de ponta-cabeça, seu poder consiste em defender sua própria fortaleza dia e noite. Aplica, rápida e rigorosamente, o “teste Shaw” em tudo que acontece na Terra ou no Céu. Seu padrão nunca varia. O que revolucionários e conservadores fracos de espírito realmente odeiam (e temem) nele é exatamente isso: os pratos de sua balança são mantidos em equilíbrio e sua lei é aplicada com justiça. Podemos atacar seus princípios, como faço; mas não conheço nenhuma situação em que possamos atacar seu uso. Caso odeie ilegalidades, odeia tanto a ilegalidade dos socialistas quanto a dos individualistas. Caso seja antipático à febre de patriotismo, antipatiza-a tanto no caso dos bôeres e irlandeses quanto no caso dos ingleses. Caso lhe desagrade as promessas e laços do casamento, desagrada-lhe ainda mais os ferozes laços e as loucas promessas do amor desregrado. Caso escarneça da autoridade dos padres, escarnece ainda mais da pompa dos homens de ciência. Caso desaprove a irresponsabilidade da fé, desaprova com sã coerência a idêntica irresponsabilidade da arte. Agradou a todos os levianos dizendo que as mulheres são iguais aos homens; mas os enfureceu ao sugerir que os homens são iguais às mulheres. É quase automaticamente justo; tem algo da terrível qualidade da máquina. O homem que realmente é licencioso e turbulento, o homem que é realmente fantástico e instável, não é o Sr Shaw, mas o Ministro de Estado medíocre. É o Sr Michael Hicks-Beach82 quem salta por argolas. É o Sr Henry Fowler83 quem fica de ponta-cabeça. Homens públicos respeitáveis desse tipo realmente saltam de uma posição para outra; estão prontos para defender qualquer coisa ou para não defender nada. Realmente não podem ser levados a sério. Sei perfeitamente bem o que o Sr Bernard Shaw estará dizendo daqui a trinta anos; estará dizendo o que sempre disse. Se daqui a trinta anos encontrar o Sr Shaw, uma respeitável criatura de barba prateada roçando o chão, e lhe disser: “Nunca podemos, claro, atacar verbalmente a uma senhora”, o patriarca levantará sua mão envelhecida e me lançará ao chão. Sabemos, insisto, o que o Sr Shaw estará dizendo daqui a trinta anos. Mas será que há alguém, misteriosamente versado em estrelas e oráculos, que ousará predizer o que o Sr Asquith84 estará dizendo daqui a trinta anos?
Na verdade, é um grande erro supor que a ausência de convicções definidas proporcione agilidade e liberdade mental. Um homem que acredita que qualquer coisa seja imediata e espirituosa o faz porque traz consigo todas as defesas. Pode aplicar seu teste num instante. O homem empenhado num conflito com alguém como o Sr Bernard Shaw pode supor que ele tenha dez faces; da mesma forma, um homem que inicia um duelo com um brilhante espadachim pode imaginar que a espada do inimigo tenha se multiplicado por dez. Mas, realmente, não é porque o homem esteja lutando com dez espadas; é porque aponta, com uma única, para um objetivo específico. Ademais, um homem com uma crença definida parece sempre grotesco, porque não muda com o mundo. Está sobre uma estrela fixa, e a Terra gira, lá embaixo, como um zootrópio.85 Milhões de homens de paletós escuros se consideram sãos e razoáveis simplesmente porque sempre aderem à última insanidade, porque correm de loucura em loucura no redemoinho do mundo.
As pessoas acusam o Sr Shaw, e muitos outros bem mais estúpidos, de “provar que preto é branco”. Mas nunca perguntam se a atual linguagem das cores está sempre correta. A sábia fraseologia comum chama, às vezes, preto de branco, chama certamente amarelo de branco, verde de branco e marrom avermelhado de branco. Chamamos o vinho, que é tão amarelo quanto as calças dos meninos de paletó azul,86 de “vinho branco”. Chamamos uvas, que são manifestamente verdes-pálidas, de “uvas brancas”. Damos aos europeus, cuja compleição é de um rosa pálido, o horrível título de “homem branco” – descrição mais horripilante que qualquer espectro de Poe.
Ora, é verdade, sem dúvida, que se um homem pede a um garçom, num restaurante, uma garrafa de vinho amarelo e algumas uvas verdes amarelecidas, o garçom o considerará louco. Não há dúvida de que se uma autoridade governamental, ao informar sobre a presença de europeus na Birmânia, disser “Há somente dois mil homens rosáceos aqui”, seria acusado de ser um piadista e perderia seu cargo. Mas é igualmente óbvio que ambos seriam prejudicados por estar dizendo a mais rigorosa verdade. Aquele homem excessivamente verdadeiro do restaurante, este homem excessivamente verdadeiro na Birmânia, é o Sr Bernard Shaw. Parece excêntrico e absurdo porque não aceita a crença geral de que branco é amarelo. Baseia todo o seu brilhantismo e solidez no fato banal, mas ainda esquecido, de que a verdade é mais estranha que a ficção. A verdade, claro, deve necessariamente ser mais estranha que a ficção, pois fizemos a ficção para que ela nos fosse conveniente.
Assim, nessa altura, uma avaliação sensata julgará o Sr Shaw excelente e estimulante. Alega ver as coisas como são; e algumas coisas, de fato, ele as vê como são; no entanto, são coisas que toda a nossa civilização absolutamente não vê. Contudo, o realismo do Sr Shaw carece de alguma coisa, e aquilo de que necessita é algo grave.
A velha e reconhecida filosofia do Sr Shaw é a apresentada de modo vigoroso em A quintessência do Ibsenismo. Em suma, diz que os ideais conservadores são maus, não porque são conservadores, mas porque são ideais. Todo ideal impede que os homens julguem de forma justa um caso particular; toda generalização moral oprime o indivíduo; a regra de ouro é que não há regra de ouro. A objeção é simplesmente que isso finge libertar os homens, mas na verdade impede os homens de fazer a única coisa que desejam. Qual a vantagem de dizer a uma comunidade que ela tem todas as liberdades, exceto a liberdade de fazer leis? A liberdade de fazer leis é o que faz um povo livre. E qual a vantagem de dizer a um homem (ou a um filósofo) que ele tem toda a liberdade, exceto a liberdade de fazer generalizações? Fazer generalizações é o que o faz um homem. Em suma, quando o Sr Shaw proíbe os homens de ter ideais morais rígidos, age como quem os proíbe de ter filhos. O ditado “a regra de ouro é que não há regra de ouro” pode, de fato, ser respondido pela mera inversão. Não haver regra de ouro é, em si, uma regra de ouro, quiçá muito pior do que uma regra de ouro. É uma regra de ferro; um entrave no primeiro movimento do homem.
Mas a sensação associada ao Sr Shaw nos últimos anos é a criação repentina da religião do super-homem. Ele, que ao que tudo indica zombava das religiões do passado remoto, descobriu um novo deus num futuro inimaginável. Ele, que punha todas as culpas nos ideais, instituiu o mais impossível de todos os ideais, o ideal de uma nova criatura. Mas a verdade, contudo, é que qualquer um que conheça bastante a mente do Sr Shaw, e devidamente a admire, há tempos já deveria ter imaginado tudo isso.
Pois a verdade é que o Sr Shaw nunca viu as coisas como realmente são. Caso tivesse visto, teria caído de joelhos diante delas. Sempre teve um ideal secreto que envergonha todas as coisas deste mundo. A todo instante, compara silenciosamente a humanidade com algo não humano, com um monstro de Marte, com o homem sábio dos estóicos, com o homem econômico dos Fabianos,87 com Julio César, com Seigfried,88 com o super-homem. Ora, ter esse impiedoso padrão interior pode ser uma coisa muito boa, ou muito má, pode ser excelente, ou desastroso, mas isso não é ver as coisas como são. Ver as coisas como são não é pensar primeiro no Briareu89 com cem mãos e, então, considerar todo homem um deficiente por ter apenas duas. Ver as coisas como são não é partir da visão de Argos,90 com cem olhos e, então, zombar de todo homem com dois olhos, como se tivesse apenas um. Ver as coisas como são não é imaginar um semideus com infinita clareza mental, que pode ou não aparecer nos últimos dias da Terra e, então, considerar idiotas a todos os homens. E isso é o que sempre o Sr Shaw, em certa medida, tem feito. Quando vemos os homens como realmente são, não os criticamos, mas os adoramos; e muito acertadamente. Pois um monstro com olhos misteriosos e polegares milagrosos, com estranhos sonhos na cabeça, com uma estranha ternura por este lugar ou aquela criança, é verdadeiramente uma maravilha e uma coisa enervante. É somente o hábito arbitrário e esnobe da comparação com outra coisa que torna possível estarmos em paz diante dele. Um sentimento de superioridade nos mantém calmos e práticos; os meros fatos fariam os joelhos tremerem com temor religioso. É o fato de cada instante de vida consciente ser um prodígio inimaginável. É o fato de cada rosto nas ruas ter a incrível imprevisibilidade de um conto de fadas. A coisa que impede um homem de perceber isso não é qualquer clareza mental ou experiência, mas simplesmente o hábito das comparações pedantes e fastidiosas entre uma coisa e outra. O Sr Shaw, do lado prático talvez o mais humano dos homens vivos, é, nesse sentido, desumano. Foi ainda infectado, em certa medida, pela fraqueza intelectual primária de seu novo mestre, Nietzsche: a estranha noção de que quanto maior e mais forte for um homem, mais desprezará as outras coisas. Quanto maior e mais forte for o homem, mais se prostrará diante de um caramujo. Que o Sr Shaw mantenha a cabeça altiva e uma expressão desdenhosa ante o panorama colossal de impérios e civilizações, isto por si só não convence ninguém de que ele vê as coisas como são. Qualquer um seria mais plenamente convencido se o visse cravando os olhos, com estupor religioso, no próprio pé. “O que são estes dois belos e diligentes seres”, posso imaginá-lo murmurando consigo mesmo, “que vejo em todos os lugares, me servindo sem saber por quê? Que fada-madrinha os mandou vir da terra das fadas quando nasci? Que deus dos confins, qual bárbaro deus das pernas devo aplacar com fogo e vinho a fim de que não me abandonem?”
A verdade é que toda a estima genuína repousa num certo mistério de humildade e de quase trevas. O homem que disse “Bem-aventurados os que nada esperam, pois não serão desapontados” propôs o panegírico de forma demasiado inadequada e até mesmo falsa. A verdade é: “Bem-aventurados os que nada esperam, pois serão gloriosamente surpreendidos”. Quem nada espera vê as rosas mais vermelhas do que os homens comuns, vê a grama mais verde e o sol mais brilhante. Bem-aventurados os que nada esperam, pois possuirão as cidades e as montanhas; bem-aventurados os mansos, pois possuirão a Terra. Até que percebamos que as coisas podem não ser, não podemos perceber que as coisas são. Até que vejamos o fundo negro, não podemos admirar a luz como uma coisa criada e única. Tão logo tenhamos visto a escuridão, toda luz será iluminadora, brilhante, ofuscante e divina. Até que concebamos o não ser, subestimamos a vitória de Deus, e não poderemos perceber nenhum dos troféus de sua antiga guerra. Um dos milhões de extraordinários gracejos da verdade é não sabermos nada até que nada saibamos.
Este é, digo deliberadamente, o único defeito na grandeza do Sr Shaw, a única resposta a sua aspiração a ser um grande homem: não se satisfazer facilmente. É uma quase solitária exceção à máxima geral e básica de que pequenas coisas satisfazem grandes homens. E é da ausência da mais estrondosa de todas as coisas, a humildade, que vem incidentalmente a particular insistência em relação ao super-homem. Depois de ridicularizar tantas pessoas, durante tantos anos, por não serem progressistas, o Sr Shaw, com um senso que lhe é peculiar, descobriu ser bastante duvidoso que qualquer um dos seres humanos bípedes existentes consiga ser progressista. Chegou a duvidar se a humanidade poderia ser combinada com o progresso, pois muitas pessoas que se satisfazem facilmente teriam escolhido abandonar o progresso e permanecer com a humanidade. O Sr Shaw, não se satisfazendo facilmente, decide jogar fora a humanidade com todas as limitações e, buscando o próprio interesse, aposta no progresso. Se o homem, como o conhecemos, é incapaz de uma filosofia do progresso, o Sr Shaw pede não por um novo tipo de filosofia, mas por uma nova espécie de homem. É como se a babá tivesse tentado alimentar, durante alguns anos, o bebê com uma comida amarga e, ao descobrir que tal comida não era adequada, não a jogasse fora e pedisse algo novo, mas jogasse o bebê pela janela e pedisse um novo bebê. O Sr Shaw não pode entender que a coisa mais valiosa e adorável aos nossos olhos é o homem – o velho bebedor de cerveja, criador de credos, batalhador, falível, sensual e respeitável. E as coisas encontradas nessa criatura permanecem imortais; as coisas encontradas na fantasia desse super-homem morreram com as civilizações agonizantes que o criaram. Quando Cristo, num momento simbólico, estabeleceu sua grande sociedade, não escolheu para pedra fundamental nem o brilhante Paulo nem o místico João, mas um embusteiro, arrogante e covarde – numa palavra, um homem. E sobre esta pedra construiu sua Igreja, e as portas do Inferno não prevalecerão. Todos os impérios e reinos se desvanecerão, pela fraqueza inerente e contínua de terem sido erigidos sobre homens fortes. Mas aquilo que é único, a Igreja cristã histórica, foi edificada sobre um homem fraco, e por essa razão é indestrutível. Pois nenhuma corrente é mais forte que o mais fraco dos elos.
74 Joseph Chamberlain (1836–1914) foi um dos políticos mais influentes da Inglaterra no final do século XIX e início do século XX. Conhecido pelo talento da oratória, era tido como radical, nos assuntos internos, e imperialista, em questões internacionais. Foi Secretário de Estado para as colônias inglesas nos anos de 1895 a 1903 e ardente defensor do Império. Erroneamente, foi acusado de precipitar a Guerra dos Bôeres, quando, na verdade, era apenas um dos grandes partidários. Seus filhos, Sir Austen Chamberlain (1863–1937) e o primeiro- ministro Neville Chamberlain (1869–1940), também foram influentes políticos ingleses.
75 Marco Antônio (83 a.C.–30 a.C.) foi um dos mais famosos políticos e militares romanos. Participou das campanhas da Judéia e do Egito e da guerra contra os gauleses. Com o fim da guerra civil foi feito cônsul, cargo que assumiu até a morte de Julio César (100 a.C.–44 a.C.). Imortalizou-se também pelo discurso contra os assassinos no funeral de César. Casou-se com Otávia, irmã de Otávio Augusto (43 a.C.–14 d.C.) e, como administrador das províncias orientais, se tornou amante de Cleópatra (70 a.C.–30 a.C.). Derrotado na Batalha do Áccio, assim como a rainha egípcia, se suicidou.
76 Versos da tragédia Julius Caesar (1599) de William Shakespeare (1564–1616). Os versos citados por Chesterton encontram-se no ato III, cena II. Em inglês: “I am no orator, as Brutus is; But as you know me all, a plain blunt man”. Interessante notar que Chesterton não cita a peça César e Cleópatra (1898) de Shaw, mas prefere citar Shakespeare, autor que Shaw não admirava muito, como deixa antever no livro A quintessência do ibsenismo (1891).
77 Palavra grega que designa, na referida acepção, tudo o que afeta os sentidos da audiência. É um dos modos de persuasão usados em Retórica. Na literatura e na arte narrativa é o apelo emocional que faz a audiência se identificar com o ponto de vista do autor. Conceito muito utilizado, por exemplo, por Nietzsche.
78 Matthew Arnold (1822–1888) foi um poeta e crítico cultural inglês que, a despeito de seus talentos literários, trabalhou como inspetor de escola. Considerado como um dos grandes poetas vitorianos, ficou conhecido como um escritor que instruía os leitores a respeito de temas sociais de seu tempo.
79 Referência à citação de Arnold de um suposto texto gaélico escocês antigo narrado por Ossian, personagem fictícia baseada na mitologia irlandesa. O trecho aparece na parte IV, página 74 da obra On the Study of Celtic Literature, de 1867. No original: “‘they went forth to the war’, Ossian says most truly, ‘but they alway fell’” (grifos de Arnold).
80 Charles Dickens (1812–1870) foi um dos romancistas mais populares da era vitoriana. Embora seus romances não sejam considerados, pelos parâmetros atuais, muito realistas, Dickens contribuiu muito para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. Chesterton era um grande admirador de sua literatura, e escreveu uma biografia deste autor em 1906, chamada Charles Dickens: A Critical Study.
81 Jane Austen (1775–1817) foi uma eminente escritora inglesa, que retratava um cotidiano inglês sem grandes sobressaltos, com heroínas jovens que terminavam por encontrar o homem dos sonhos e casar. Embora a temática pareça banal, isso não reduz em nada a estatura de sua ficção. Dentre seus livros mais conhecidos estão os romances Orgulho e preconceito (1813) e Emma (1816).
82 Chesterton se refere ao Primeiro Conde de St Aldwyn (1837–1916). Líder político conservador, exerceu os cargos de Secretário das Colônias de 1878–1880 e Ministro das Finanças (Chancellor of the Exchequer) por dois períodos, de 1885–1886 e de 1895–1902, durante a guerra sul-africana.
83 Henry Hartley Fowler, Visconde de Wolverhampton (1830–1911). Líder do Partido Liberal e severo crítico da política britânica no sul da África. Entretanto, chamou a Guerra dos Bôeres de “justa e inevitável”.
84 Herbert Henry Asquith, Primeiro Conde de Oxford e Asquith (1852–1928), foi Ministro do Interior (Home Secretary) em duas administrações liberais na década de 1890. Aprovava a Guerra dos Bôeres, mas não a forma como estava sendo conduzida; daí talvez o comentário de Chesterton. Posteriormente, assumiu os cargos de Chancellor of the Exchequer de 1905 a 1908 e de primeiro-ministro de 1908 a 1916.
85 Inventado em 1834, este brinquedo óptico era muito popular antes do aparecimento do cinema. Consistia num cilindro sobre um eixo fixo em que as figuras dispostas na parede interior do cilindro, se olhadas pelas fendas laterais, em movimento giratório, pareciam animadas.
86 Chesterton alude ao uniforme dos alunos da famosa escola beneficente londrina do Christ’s Hospital onde estudaram figuras como Coleridge (1772–1834) e Charles Lamb (1775–1834). A escola foi transferida para Sussex em 1902.
87 Referência à Sociedade Fabiana, cujo nome é uma homenagem ao general romano Quintus Fabius Maximus (280 a.C.–203 a.C.), comandante das legiões romanas, durante a Segunda Guerra Púnica, que barrou o avanço do exército cartaginês liderado por Aníbal Barca (247 a.C.–183 a.C.) ao se recusar a travar uma batalha campal direta, preferindo a tática de guerra de desgaste. A Sociedade Fabiana foi fundada em Londres no início de 1884, por um grupo de jovens intelectuais de diferentes linhas socialistas e tinha o propósito de reconstruir a sociedade pelos mais altos ideais morais. Tinha por finalidade promover a gradual difusão do socialismo e rejeitava a transformação pela revolução violenta. Para eles, as reformas deveriam ser pequenas e progressivas. Bernard Shaw foi um de seus inúmeros membros ilustres.
88 Herói lendário da mitologia nórdica e personagem central da Saga dos Volsungos. A adaptação mais conhecida da história de Siegfried é a adaptação de Richard Wagner (1813–1883) para a ópera em quatro partes Der Ring des Nibelungen (O anel do Nibelungo), escrita entre 1848 e 1874. A lenda do herói é a base de Siegfried (terceira parte) e contribui nas histórias de Die Walküre (segunda parte) e Götterdämmerung (quarta parte).
89 Figura mitológica. Um dos três hecatônquiros, gigantes com cem braços e cinqüenta cabeças, filhos de Gaia e Urano, aprisionados por este no Tártaro junto com os ciclopes.
90 Referência a Argos Panoptes. Gigante da mitologia grega com cem olhos que servia fielmente a Hera e foi incumbido pela deusa de tomar conta de Io, princesa e amante de Zeus transformada em novilha.
CAPÍTULO V
O Sr H.G. Wells e os gigantes
TEMOS DE OLHAR bem no interior de um hipócrita para ver sua sinceridade. Temos de estar interessados naquela parte mais obscura e verdadeira de um homem onde habitam não os vícios que esconde, mas as virtudes que não consegue mostrar. E, quanto mais abordamos os problemas da humanidade com essa caridade perspicaz e penetrante, menor é o espaço que deixamos para qualquer tipo de pura hipocrisia. Os hipócritas não nos enganarão fazendo com que os consideremos santos, tampouco nos farão considerá-los hipócritas. E um número cada vez maior de casos abarrotará nosso campo de investigação, casos em que não há, absolutamente, que se desconfiar de hipocrisia, casos em que as pessoas são tão sinceras que parecem absurdas, e tão absurdas que parecem insinceras.
Há um exemplo impressionante de acusação injusta de hipocrisia. É sempre instado contra as religiões de tempos passados, como um ponto de inconsistência ou duplicidade: o fato de que combinavam a crença numa humildade quase rastejante com a ávida luta pelo sucesso material e um considerável triunfo em alcançá-lo. É visto como artifício alguém ser muito escrupuloso ao se considerar um miserável pecador e também muito formalista ao se considerar Rei da França. Mas a verdade é que não há inconsistência mais intencional entre a humildade e a avidez do cristão do que entre a humildade e a avidez de um amante. A verdade é que não há coisas pelas quais os homens farão um esforço hercúleo como por aquelas de que se consideram indignos. Nunca houve um homem apaixonado que não tivesse declarado que, caso se esforçasse ao máximo, conseguiria satisfazer seu desejo. E nunca houve um homem apaixonado que não tivesse declarado, também, que não devesse alcançá-lo. Todo o segredo do sucesso prático da cristandade está na humildade cristã, embora imperfeitamente praticada. Pois, com a retirada da questão do mérito ou da recompensa, a alma é repentinamente liberada para empreender incríveis viagens. Caso perguntemos a um homem sadio o quanto merece, sua memória se retrai instintiva e instantaneamente. Duvido que mereça sete palmos de terra. Mas, caso perguntemos o que pode conquistar – pode conquistar as estrelas. Assim, aparece o que chamamos de “romance”, um produto puramente cristão. Um homem não pode merecer aventuras; não pode merecer dragões e hipogrifos. A Europa medieval, que afirmava a humildade, ganhou o romance; a civilização, que ganhou o romance, ganhou um globo habitável. Como é diferente o sentimento pagão e estóico daquilo que foi admiravelmente expresso nesta famosa citação, em que Addison91 faz o grande estóico92 dizer:
Não cabe aos mortais comandar o sucesso.
Todavia faremos mais, Sempronius, faremos por merecer.93
Contudo, o espírito do romance e da cristandade, o espírito que está em todo amante, o espírito que trotou pela Terra com a aventura européia, é exatamente o oposto. “Não cabe aos mortais merecer o sucesso. Todavia faremos mais, Sempronius; nós o obteremos”.
E essa alegre humildade, esse autodomínio suave e, não obstante, pronto a uma infinidade de triunfos imerecidos, tal segredo é tão simples que todo o mundo supôs haver uma coisa sinistra e misteriosa. A humildade é uma virtude tão prática que os homens pensam dever ser um vício. A humildade é tão bem-sucedida que é confundida com orgulho. É facilmente confundida porque, no mais das vezes, vem acompanhada de um amor simples pelo esplendor que equivale à vaidade. A humildade sempre, de preferência, se veste de escarlate e dourado; o orgulho se recusa a deixar o dourado e o escarlate impressioná-lo ou agradá-lo demais.94 Em suma, o fracasso desta virtude está exatamente no sucesso; é muito bem-sucedida como envoltório para acreditarmos ser virtude. A humildade não é simplesmente boa demais para este mundo; é demasiadamente prática para este mundo; quase posso dizer que é demasiadamente mundana para este mundo.
A instância mais citada em nossos dias é a da chamada humildade do homem de ciência, certamente um bom exemplo e bastante moderno. Os homens consideram muito difícil acreditar que o homem que move montanhas e divide os mares, que derruba os templos e estende as mãos até as estrelas, realmente seja um tranqüilo cavalheiro idoso que só pede para ser deixado em paz com o passatempo antigo e inócuo de seguir seu inofensivo e senil nariz. Quando um homem parte um grão de areia e em conseqüência o universo é virado de cabeça para baixo, fica difícil perceber que para o homem que o partiu a divisão do grão é um grande acontecimento, e a reviravolta do cosmo, algo muito pequeno. É difícil compreender os sentimentos de um homem que considera um novo Céu e uma nova Terra à luz de um subproduto. Mas, indubitavelmente, foi a essa quase assustadora inocência do intelecto que homens notáveis do grande período científico, que agora parece estar terminando, deveram seu enorme poder e glória. Caso tivessem feito cair o Céu como um castelo de cartas, a alegação não seria nem mesmo que o fizeram por princípio; a irrespondível alegação seria de que o fizeram por acidente. Sempre que havia um ínfimo toque de orgulho a respeito dos respectivos feitos, tínhamos um bom pretexto para atacá-los; mas, ao se tornarem completamente humildes, foram totalmente vitoriosos. Havia possíveis respostas para Huxley; não havia resposta possível para Darwin.95 Este foi convincente pela falta de consciência; quase poderíamos dizer, por estupidez. Tal mentalidade infantil e banal está começando a desaparecer do mundo da ciência. Os homens de ciência estão começando, como diz a expressão, “a assumir seu papel”. Estão começando a ficar orgulhosos de sua humildade. Estão começando a ser estetas, como o resto do mundo, começando a soletrar verdade com “V” maiúsculo, começando a falar de credos que imaginam ter destruído, das descobertas que seus antepassados fizeram. Assim como o moderno homem inglês, estão começando a ser flexíveis com a própria inflexibilidade. Estão se tornando conscientes da própria força – isto é, estão ficando mais fracos.
Mas surgiu nas últimas e estritamente modernas décadas um homem totalmente atual, que traz para nosso mundo a límpida simplicidade pessoal vinda do antigo mundo da ciência. Um homem de gênio que temos como artista, mas que foi homem de ciência e parece estar marcado, acima de tudo, por essa grande humildade científica. Refiro-me ao Sr H.G. Wells. E nesse caso, como nos outros acima mencionados, deve haver uma grande dificuldade prévia em convencer as pessoas comuns de que tal virtude possa ser atribuída a um homem como ele. O Sr Wells começou sua obra literária com visões violentas – visões das supremas angústias deste planeta. Podemos acreditar que um homem que parte de visões violentas seja humilde? Seguiu escrevendo histórias cada vez mais frenéticas sobre feras que se transformam em homens96 e sobre como atirar em anjos como se fossem passarinhos.97 Pode ser considerado humilde um homem que caça anjos com tiros e cria homens-fera? Desde então, tem feito algo mais ousado que essas blasfêmias. Tem profetizado o futuro político de todos os homens; profetizado com agressiva autoridade e retumbante determinação nos detalhes. Será humilde o profeta do futuro de todos os homens? Será difícil, no curso da presente análise sobre coisas tais como orgulho e humildade, responder a questão de como pode ser humilde quem faz coisas tão grandiosas e ousadas, visto que a única resposta é a que dei no começo deste ensaio. É o humilde que faz grandes coisas. É o humilde que faz coisas ousadas. Ao humilde são garantidas visões sensacionais, e isso por três razões óbvias: em primeiro lugar, porque força os olhos mais do que qualquer outro homem para vê-las; em segundo lugar, porque fica tomado e é arrebatado quando ocorrem as visões; em terceiro lugar, porque as recorda de forma mais precisa e sincera e com menos adulterações provenientes do comum e presunçoso ego. As aventuras são para os que menos as esperam – ou seja, para os mais românticos. As aventuras são para os tímidos: nesse contexto, aventuras são para os não aventureiros.
Ora, essa cativante humildade mental do Sr H.G. Wells pode ser, como muitas outras coisas vitais e vívidas, difícil de ilustrar com exemplos, mas se me fosse pedido um exemplo, não teria dificuldade em escolher qual exemplo usar. A coisa mais interessante a respeito do Sr H.G. Wells é que ele é o único, dos muitos de seus contemporâneos brilhantes, que não parou de crescer. Podemos ficar acordados à noite e ouvi-lo crescer. Deste crescimento, a mais evidente manifestação é realmente uma gradual mudança de opiniões; mas não uma mera mudança de opiniões. Não é o saltar incessante de uma posição para outra, como no caso do Sr George Moore.98 É um avanço contínuo por um caminho estável numa direção bastante definida. Mas a prova principal de que não é uma amostra de inconstância e vaidade é o fato de que tem sido, em geral, um avanço de opiniões alarmantes para opiniões mais monótonas. Tem sido, em certo sentido, um progredir de opiniões não convencionais para opiniões convencionais. Este fato determina a honestidade do Sr Wells e comprova que ele não é um poseur.99 O Sr Wells, certa vez, afirmou que a classe alta seria tão distinta da classe inferior que uma classe comeria a outra. Certamente, um charlatão paradoxal que tivesse encontrado argumentos para uma visão tão aterradora nunca a teria abandonado, exceto por outra ainda mais alarmante. O Sr Wells a abandonou em favor da crença inocente de que ambas as classes seriam finalmente subordinadas ou assimiladas por uma espécie de classe média científica, ou classe dos engenheiros. Abandonou essa teoria extraordinária com a mesma ilustre gravidade e simplicidade com que a adotou. Naquele momento a considerou verdadeira; agora, crê que não seja. Chegou à conclusão mais terrível que um literato pode chegar: a conclusão de que a visão comum é a correta. É uma espécie de coragem derradeira e desvairada que consegue fazer alguém se postar numa torre diante de dez mil pessoas e dizê-las que dois mais dois são quatro.
O Sr H.G. Wells vive, atualmente, numa alegre e animada marcha rumo ao conservadorismo. Está descobrindo, cada vez mais, que as convenções, embora silenciosas, vivem. Um bom exemplo, entre muitos, de sua humildade e sanidade pode ser encontrado na mudança de opinião nos quesitos ciência e casamento. Defendia, creio, a opinião, como determinados sociólogos, de que as criaturas humanas poderiam acasalar e procriar da mesma forma que cachorros ou cavalos. Não mais compartilha dessa opinião. E não só não possui mais essa opinião, como escreveu sobre o assunto em Mankind in the Making com tão formidável senso de humor, que acho difícil acreditar que alguém mais possa defender esse ponto de vista. De fato, a principal objeção à proposta é tal união ser fisicamente impossível, o que me parece uma objeção muito débil e quase desprezível se comparada às outras. A única objeção ao casamento científico que merece atenção é, simplesmente, a de que tal coisa só poderia ser imposta a escravos e covardes. Não sei se os promotores do casamento científico estão certos (como eles mesmos dizem) ou errados (como diz o Sr Wells) em afirmar que a supervisão médica produziria homens mais fortes e saudáveis. Apenas estou certo de que, se isso fosse verdade, o primeiro ato de homens fortes e saudáveis seria destruir a supervisão médica.
O erro de toda essa discussão médica está exatamente no fato de associar a idéia de saúde com a de cuidado. Qual a relação entre saúde e cuidado? Saúde tem relação com a falta de cuidado. Em casos especiais e anormais é necessário ter cuidado. Quando estamos particularmente doentes pode ser necessário tomar cuidados para recuperar a saúde. Mas, mesmo nesse caso, apenas estamos tentando ser saudáveis para sermos descuidados. Caso sejamos médicos, falaremos com homens excepcionalmente doentes, e estes devem ser aconselhados a tomarem certos cuidados. Mas, quando somos sociólogos, nos dirigimos aos homens normais, nos dirigimos à humanidade. E a humanidade deve ser aconselhada a ser imprudente, pois todas as funções fundamentais de um homem saudável devem ser, certamente, desempenhadas com prazer e pelo prazer. Por certo não devem ser desempenhadas com precaução ou por precaução. Um homem deve comer por ter um bom apetite a satisfazer e, certamente, não por ter um corpo para sustentar. Um homem deve se exercitar não porque seja muito gordo, mas porque ama floretes, cavalos ou montanhas, e os ama pelo que são. Um homem deve se casar porque se apaixonou e, decididamente, não porque o mundo precisa ser povoado. A comida verdadeiramente renovará os tecidos do corpo, uma vez que a pessoa não pense em seus tecidos. O exercício fará alguém realmente entrar em forma, contanto que a pessoa pense em algo mais. E o casamento terá alguma chance de produzir uma geração saudável e generosa se tiver origem num entusiasmo natural e generoso. A primeira lei da saúde é que nossas necessidades não devem ser aceitas como necessidades; devem ser aceitas como luxos. Sejamos cuidadosos com as pequenas coisas, como um arranhão ou um leve mal-estar, ou seja, tudo o que possa ser tratado com cuidado. Mas, em nome da sanidade, sejamos descuidados com as coisas importantes, como o casamento, ou a fonte da própria vida secará.
O Sr Wells, contudo, não está bem certo da estreiteza do panorama científico para ver que há coisas que realmente não devem ser científicas. Ainda é um pouco afetado pela grande falácia científica; ou seja, pelo hábito de não partir da alma humana, que é a primeira coisa que um homem aprende, mas partir de coisas tais como protoplasma, que é uma das últimas a ser aprendidas. Um dos defeitos de seu esplêndido equipamento mental é não considerar suficientemente as coisas dos homens. Em sua nova utopia100 diz, por exemplo, que um dos pontos principais da utopia será o descrédito do pecado original. Se tivesse começado com a alma humana – isto é, se tivesse começado consigo mesmo – teria descoberto que o pecado original é uma das primeiras coisas em que acreditamos. Teria descoberto, em suma, que a permanente possibilidade de egoísmo surge do simples fato de se ter um “eu”, e não deriva de quaisquer acidentes na educação ou de maus-tratos. E a fraqueza de todas as utopias é esta: tomam a maior dificuldade do homem e a supõem superável e, então, fazem uma descrição elaborada da superação das menores dificuldades. Primeiro, presumem que nenhum homem desejará mais do que seu quinhão e, então, são muito engenhosos ao explicar se a entrega de tal parte será feita por automóvel ou por avião. Um exemplo ainda mais elucidativo da indiferença do Sr Wells em relação à psicologia humana pode ser encontrado em seu cosmopolitismo: a abolição, na sua utopia, de todas as fronteiras patrióticas. Diz, de modo inocente, que a utopia deve ser um estado mundial, ou sempre teremos guerras. Não parece ocorrer-lhe que, para muitos de nós, se houvesse um estado mundial, ainda assim faríamos guerras até o fim do mundo. Pois, se admitimos que existam variedades na arte ou nas opiniões, qual o propósito de pensar que não teremos variedades de governo? O fato é muito simples. A menos que deliberadamente impeçamos algo de ser bom, não podemos impedir que valha a pena lutar por isso. É impossível impedir um possível conflito de civilizações porque é impossível impedir um possível conflito de ideais. Se não houvesse mais a moderna luta entre nações, haveria somente uma luta entre utopias. Pois o que é mais importante não tende somente à união; o que é mais importante tende também à diferenciação. Sempre podemos conseguir homens para lutar pela união; mas nunca podemos obstar que também lutem por diferenciação. Tal variedade no que é mais importante é o significado do patriotismo feroz, do nacionalismo feroz da grande civilização européia. É também, incidentalmente, o significado da doutrina da Trindade.
No entanto, acredito que o principal erro da filosofia do Sr Wells é algo mais profundo, algo que ele apresenta de forma muito divertida na introdução de sua nova utopia. Sua filosofia, de certa forma, equivale à negação de possibilidade da própria filosofia. Ele, ao menos, afirma que não há idéias seguras e confiáveis das quais podemos nos valer para uma satisfação mental final. Todavia, será mais claro e mais divertido citar o próprio Sr Wells.
Diz ele: “Nada perdura, nada é preciso e certo (exceto as idéias de um pedante). [...] Ora, o ser! – não há ser, apenas o vir-a-ser universal das individualidades, e Platão deu as costas à verdade quando se voltou para um museu de ideais específicos”.101 O Sr Wells diz, novamente: “Não há nada permanente no que sabemos. Mudamos da luz mais fraca para a mais forte, e cada luz mais poderosa, por sua vez, penetra em nossos alicerces, até então, mais obscuros, e revela as diferentes e frescas estupidezes que existiam por debaixo deles”.102 Ora, quando o Sr Wells diz coisas desse tipo, digo com todo o respeito que ele não observa uma evidente distinção mental. Não pode ser verdade que não exista nada permanente no que sabemos. Pois, se assim fosse, não saberíamos nada e não chamaríamos o que sabemos de conhecimento. Nosso estado mental pode ser muito diferente do de uma pessoa que viveu alguns milhares de anos atrás; mas não pode ser completamente diferente, ou não estaríamos conscientes de haver uma diferença. O Sr Wells deve, certamente, perceber que o primeiro e mais simples dos paradoxos se posta perto das fontes da verdade. Por certo, deve perceber que o fato de existirem duas coisas diferentes sugere que há similares. A lebre e a tartaruga podem diferir na qualidade da velocidade, mas devem concordar na qualidade do movimento. A mais rápida das lebres não pode ser mais rápida do que um triângulo isósceles ou do que a idéia da cor rosa. Quando dizemos que a lebre se move mais rapidamente, dizemos que a tartaruga se move. E quando falamos que uma coisa se move, dizemos, sem precisar de outras palavras, que há coisas que não se movem. E, ainda, ao dizer que as coisas mudam, dizemos que há algo imutável.
Mas, certamente, o melhor exemplo da falácia do Sr Wells pode ser encontrado no exemplo que ele próprio escolheu. É bem verdade que uma luz fraca, se comparada às trevas, é luz; mas, se comparada a uma luz mais forte, é escuridão. No entanto, a qualidade de luz permanece a mesma, ou então não a chamaríamos de luz mais forte ou não a reconheceríamos como tal. Se a característica da luz não estivesse fixada no intelecto, poderíamos muito bem chamar uma sombra mais densa de luz mais forte, ou vice-versa. Se a característica da luz se tornasse, mesmo por um instante, não permanente; caso se tornasse, mesmo por uma fração de segundo, duvidosa; se, por exemplo, lentamente surgisse em nossa idéia de luz uma impressão vaga de azul; então, naquele ínfimo instante, surgiria a dúvida se a nova luz teria mais ou menos luz. Em suma, o progresso pode ser tão variável quanto uma nuvem, mas sua direção deve ser tão rígida quanto uma estrada francesa.
Norte e sul são relativos no sentido de que estou ao norte de Bournemouth103 e ao sul de Spitsbergen.104 Mas se houver qualquer dúvida sobre a posição do Pólo Norte, haverá igual grau de dúvida sobre estar ao sul de Spitsbergen. A idéia absoluta de luz pode ser praticamente inatingível. Podemos não ser capazes de obter a luz pura. Podemos não ser capazes de chegar ao Pólo Norte. Mas por ser o Pólo Norte inatingível não concluímos que seja indefinível. Somente porque o Pólo Norte não é indefinível é que podemos fazer um mapa satisfatório de Brighton105 e Worthing.106
Em outras palavras, Platão se voltou para a verdade e deu as costas ao Sr H.G. Wells ao retornar para o museu de ideais específicos. É precisamente aqui que Platão demonstrou ter senso. Não é verdade que tudo muda. As coisas que mudam são todas manifestas e materiais. Há algo que não muda e que é, precisamente, a qualidade abstrata, a idéia invisível. O Sr Wells diz, com muita verdade, que o que vimos, numa situação, como trevas, poderemos ver, noutra situação, como luz. Mas o comum a ambos os incidentes é a mera idéia de luz – que absolutamente não vemos. O Sr Wells pode crescer cada vez mais, até ficar da altura do infinito, crescer até que sua cabeça ultrapasse a mais solitária das estrelas. Posso imaginá-lo escrevendo um bom romance a respeito disso. E, nesse caso, veria as árvores, primeiramente, como coisas grandes e, então, como coisas pequenas; veria as nuvens, primeiramente, como coisas altas e, depois, como baixas. Mas, haveria de permanecer nele, através dos tempos, na solidão estelar, a idéia de altura. Teria por companhia e conforto, nos espaços terríveis, a noção exata de que esteve aumentando em altura e não, por exemplo, em peso.
E, neste momento, me recordo que o Sr H.G. Wells realmente escreveu um divertido romance sobre homens que crescem e ficam tão grandes quanto as árvores; e que aqui, novamente, me parece ter sido vítima desse vago relativismo. O alimento dos deuses107 é, como as peças do Sr Bernard Shaw, em essência, um estudo da idéia do super-homem. Creio que está sob o véu de uma alegoria semipantomímica, aberta ao mesmo tipo de ataque intelectual. Não se pode esperar que tenhamos qualquer consideração por uma grande criatura, se ela não se conformar, de alguma maneira, aos nossos padrões. Pois, a menos que ultrapasse nossos padrões de grandeza, não podemos sequer chamá-la de grande. Nietzsche resumiu tudo o que é interessante na idéia do super-homem ao dizer: “O homem é algo que deve ser superado”.108 Mas a própria palavra “superado” implica a existência de um padrão comum e algo que nos excede. Se o super-homem é mais másculo que os homens, estes vão, mais cedo ou mais tarde, o idolatrar, mesmo se acontecer de o matarem primeiro. Mas se é simplesmente mais supermásculo, podem ficar indiferentes como seriam com uma monstruosidade aparente e despropositada. Ele deve se submeter ao nosso teste mesmo que seja para nos intimidar. A mera força ou tamanho são um padrão; mas tais características, sozinhas, nunca farão os homens pensarem noutro homem como superior. Os gigantes, nos antigos e sábios contos de fada, são vis. Super-homens, se não forem bons homens, são pessoas abjetas.
O alimento dos deuses é o conto de Jack, o matador de gigantes narrado do ponto de vista do gigante. Creio que isso não fora feito antes na literatura; contudo tenho poucas dúvidas de que sua substância psicológica, de fato, exista. Não duvido que o gigante morto por Jack acreditasse ser um super-homem. É bem provável que considerasse Jack uma pessoa limitada e provinciana que desejava frustrar um grande avanço da força vital. Se (como muitas vezes era o caso) tivesse duas cabeças, chamaria atenção para a máxima elementar que declara ter duas cabeças como algo melhor do que possuir somente uma. Engrandeceria a sutil modernidade de tal equipamento, que capacita o gigante a ver um sujeito a partir de dois pontos de vista, ou prontamente se corrigir. Mas Jack era defensor dos modelos humanos duradouros, do princípio “um homem, uma cabeça” e “um homem, uma consciência”, um homem de única cabeça, único coração e único olho. Jack foi muito pouco afetado pela questão do gigante ser particularmente gigantesco. Queria saber, acima de tudo, se aquele era um bom gigante – isto é, um gigante que nos fizesse bem. Quais eram os pontos de vista religiosos do gigante; quais eram suas opiniões políticas e o que acreditava que seriam as tarefas do cidadão? Gostava de crianças – ou gostava delas apenas de forma obscura e sinistra? Empreguemos a bela expressão que retrata a sanidade emocional: seu coração era grande?109 Jack, por vezes, tinha de retalhá-lo com a espada para descobrir.
A história antiga e justa de Jack, o matador de gigantes é, simplesmente, toda a história do homem. Caso fosse compreendida, não precisaríamos de Bíblias ou de Histórias. Mas o mundo moderno, em particular, não parece, absolutamente, compreender isso. O mundo moderno, assim como o Sr Wells, está do lado dos gigantes. O lugar mais seguro é, portanto, o mais mesquinho e o mais vulgar. O mundo moderno, quando louva seus pequenos césares, fala em força e coragem; mas não parece ver o eterno paradoxo contido na conjunção dessas idéias. O forte não pode ser corajoso. Somente o fraco pode ser corajoso; e, mais uma vez, na prática, somente aqueles que podem ser corajosos são confiáveis, em tempos de dúvida, para serem fortes. A única forma de um gigante manter a forma para lutar contra o inevitável Jack seria lutar, continuamente, contra gigantes dez vezes maiores que ele. Ou seja, deixando de ser um gigante e se tornando um Jack. Assim, a compaixão para com o pequeno ou o vencido, que em nós, liberais e nacionalistas, muitas vezes é repreendida, não é absolutamente um sentimentalismo inútil, como imaginam o Sr Wells e seus amigos visionários. É a primeira lei da coragem prática. Estar do lado mais fraco é estar na escola do mais forte. Não poderia imaginar nada mais benéfico para a humanidade do que uma raça de super-homens para lutarem como dragões. Se o super-homem é melhor do que somos, claro que não precisaríamos lutar contra ele; mas, neste caso, porque não chamá-lo de santo? Mas se ele é simplesmente mais forte (seja física, mental, ou moralmente, não dou a mínima), então deveria ter de nos enfrentar, ao menos, com a força que temos. Caso sejamos mais fracos que ele, não há razão por que devamos ser mais fracos que nós mesmos. Se não somos altos o bastante para alcançar os joelhos do gigante, não há razão para nos tornarmos menores dobrando os nossos. Mas isso está subjacente a toda idéia de adoração moderna do herói e à celebração do homem forte, do César, do super-homem. Ele deve ser algo além do homem e nós, algo aquém.
Sem dúvida há uma forma melhor e mais antiga de adorar um herói. Entretanto, o herói antigo era um ser, assim como Aquiles, mais humano que a própria humanidade. O super-homem de Nietzsche é frio e sem amigos. Aquiles é tão apaixonado pelos amigos que massacra exércitos na agonia da perda. O triste César do Sr Shaw diz, com desolado orgulho: “Quem nunca esperou, jamais pode desesperar”.110 O homem-deus do passado responde de sua venerável colina: “Há dor semelhante à minha dor?”.111 Um grande homem não é um homem tão forte que sinta menos que outro homem; é um homem tão forte que sente mais. E quando Nietzsche diz: “Eu vos trago um novo mandamento: ‘tornai-vos duros’”,112 estava, na realidade, dizendo, “Eu vos trago um novo mandamento: ‘tornai-vos mortos’”. Sensibilidade é a explicação da vida.
Uma última palavra a respeito de Jack, o matador de gigantes. Discorri longamente sobre a questão do Sr Wells e os gigantes, não porque isso seja especialmente evidente no seu pensamento. Sei que o super-homem não tem tanta importância em seu cosmo quanto no do Sr Bernard Shaw. Tratei desse assunto pelo motivo oposto; porque a heresia de adorar um herói imoral o seduziu um pouco, e talvez ainda seja possível evitar que perverta um dos melhores pensadores atuais. Ao longo da obra A Modern Utopia,113 o Sr Wells faz mais de uma alusão elogiosa ao Sr W.E. Henley.114 Este homem inteligente e infeliz viveu reverenciando uma violência obscura, e sempre voltou a antigos contos e baladas bárbaras, a fortes e primitivas literaturas, a fim de exaltar a força e justificar a tirania. Mas não conseguiu encontrar tal violência. Não estava ali. A literatura primitiva é revelada no conto de Jack, o matador de gigantes. A literatura antiga séria exalta o fraco. Os brutais contos antigos são tão delicados com as minorias quanto qualquer idealista político moderno. As brutais baladas antigas estão tão sentimentalmente preocupadas com os oprimidos quanto a Sociedade Protetora dos Aborígenes. Quando os homens eram brutos e selvagens, quando viviam entre duros golpes e impiedosas leis, quando sabiam o que realmente significava lutar, tinham apenas dois tipos de canções. O primeiro tipo exultava a vitória do fraco sobre o forte; o segundo, um lamento, pois o forte tinha, ao menos uma vez, vencido o fraco. Ora, essa oposição ao status quo, esse constante esforço para alterar o equilíbrio existente, esse desafio prematuro do poderoso, é a natureza integral e o segredo mais recôndito da aventura psicológica que chamamos homem. Sua força é desdenhar da força. A esperança solitária não é somente uma esperança verdadeira, é a única esperança real da humanidade. Nas mais rudes baladas dos homens dos bosques, as mais apreciadas eram aquelas que desafiavam, não somente o rei, mas também o herói. No momento em que Robin Hood se torna uma espécie de super-homem, aí o cronista de cavalaria nos mostra um Robin Hood derrotado por um pobre funileiro em quem pensava dar um safanão. E o cronista de cavalaria faz Robin Hood receber a derrota com um brilho de admiração.115 Essa magnanimidade não é produto do humanitarismo moderno; não é produto de nada relativo à paz. Essa magnanimidade é simplesmente uma das artes da guerra que foi perdida. Os discípulos de Henley exigem uma Inglaterra vigorosa e guerreira, e retornam às violentas histórias antigas de ingleses resolutos e aguerridos. E o que encontram em toda a bravia literatura de outrora é “a política de Majuba”.116
91 Joseph Addison (1672–1719) foi um poeta, dramaturgo, ensaísta e político inglês. Juntamente com Richard Steele (1672–1729) fundou a antiga revista The Spectator (1711–1712) [embora tivesse o mesmo nome, a revista com que Chesterton colaborava era outra publicação], que elevou o jornalismo a gênero literário. Em 1712, escreveu a peça Catão: uma tragédia que foi muito bem recebida pela crítica inglesa, e segundo alguns, inspirou muitos dos pais da pátria norte-americanos.
92 Chesterton se refere a Marco Pórcio Catão Uticense, também chamado de Catão, o jovem (95 a.C.–46 a.C.). Seguidor da filosofia estóica, reconhecido pela grande integridade moral e avesso a subornos, fez oposição a Júlio César (100 a.C.–44 a.C.). Após a vitória deste na Batalha de Tapso, cometeu suicídio. Para fazê-lo “falar”, Chesterton utiliza a peça, de 1712, Catão: uma tragédia de Joseph Addison (1672–1719).
93 ADDISON, Joseph. Catão: uma tragédia. Ato I, cena 2, versos 44–45. Em inglês: “’Tis not in mortals to command success; But we’ll do more, Sempronius, we’ll deserve it”.
94 As cores escarlate e dourado estão presentes em vários símbolos da monarquia inglesa, desde as túnicas oficiais em estilo Tudor das sentinelas da torre de Londres, passando pelas cores predominantes na Câmara dos Lordes até a decoração da sala do trono no Palácio de Buckingham.
95 Ao publicar A origem das espécies em 1859, Charles Darwin (1809–1882) não tomou parte na controvérsia que surgiu a partir de seu livro. Thomas Henry Huxley (1825–1895) foi um de seus primeiros defensores, chegando a ganhar a fama de “O buldogue de Darwin”.
96 Referência ao livro de 1896, A ilha do Dr Moreau. Dr Moreau é um médico que cria criaturas monstruosas numa ilha tropical, obcecado pela idéia de transformar animais em homens por intermédio de cirurgias e hipnose.
97 Referência ao livro de 1895, The Wonderful Visit, que conta a história de um anjo caído que chega ao vilarejo de Sidderton, na Inglaterra. Na luta por se adaptar à vida cotidiana, o anjo tem de lidar com alguns problemas como suas qualidades celestiais de pureza, saúde e sanidade, pois elas o fazem ser odiado pelos moradores do local.
98 George Augustus Moore (1852–1933) teve uma reputação considerável como romancista na época em que Chesterton escrevia o presente livro. Como escritor naturalista, foi um dos primeiros a absorver as lições do realismo francês, sendo profundamente influenciado por Émile Zola (1840–1902). Irlandês, nasceu e foi criado como católico, mas se tornou um dos maiores antagonistas da Igreja Católica. Sobre a opinião de Chesterton sobre Moore, ver capítulo IX.
99 Pessoa afetada ou artificial.
100 Referência à obra A Modern Utopia de 1905. A obra, um romance de ficção que trata de temas sociopolíticos, é uma das primeiras elaborações do estado de bem-estar social e é uma das principais tentativas do autor na defesa de um “governo mundial” e de uma sociedade regida por ideais socialistas.
101 A Modern Utopia, capítulo I, p. 26.
102 Idem, capítulo I, p. 27.
103 Cidade litorânea localizada a cerca de 170 quilômetros sudoeste de Londres e que possui um dos climas mais quentes e ensolarados da Inglaterra.
104 Maior ilha do arquipélago ártico das Svalbard, na Noruega.
105 Cidade da costa sul da Inglaterra, localizada no condado de East Sussex.
106 Outra cidade litorânea inglesa, localizada no condado de West Sussex.
107 Obra de 1904. Conta a história de dois cientistas um tanto excêntricos, bem britânicos, que ao pesquisar o mecanismo do crescimento dos seres vivos, descobrem uma substância que acelera exageradamente esse crescimento, criando gigantismo em tudo – seres humanos, animais, plantas, insetos. Chamada de “alimento dos deuses”, a substância logo escapa do controle e começa a se espalhar pelo mundo, produzindo espécimes gigantes e perigosas, e termina numa guerra entre os gigantes e os pequenos, ou seja, os normais.
108 A frase aparece no prólogo de Assim falou Zaratustra (1883–1885), quando o persa anuncia o super-homem em praça pública.
109 Em inglês, a expressão seria “to have (one’s) heart in the right place”, e significa ser amável, zeloso e generoso.
110 Referência à peça César e Cleópatra de 1898.
111 A passagem se encontra na Bíblia em Lm, 1,12.
112 A passagem se encontra na obra Assim falou Zaratustra (1883–1885).
113 Chesterton chama erroneamente a obra de The New Utopia, no entanto substituímos no texto pelo título correto.
114 William Ernest Henley (1849–1903) foi um poeta e jornalista inglês que num dado período foi entusiasta dos aventureiros que iam para as colônias, assim como Kipling (1865–1936). É citado como personagem que também existe no mundo de Utopia e descrita como “tão irascível neste mundo [de Utopia] quanto no nosso”. Ficou conhecido pelo poema Invictus (1875), que muitos anos depois foi recitado por Nelson Mandela durante a prisão.
115 A personagem de Robin Hood foi extremamente popular durante o século XIX, a começar pela aparição heróica no famoso romance Ivanhoé (1819) de Sir Walter Scott (1771–1832). Chesterton refere-se à história Robin Hood and the Tinker, que aparece na parte I, capítulo I, do livro The Merry Adventures of Robin Hood of Great Renown, in Nottinghamshire (1883) do escritor e ilustrador norte-americano Howard Pyle (1853–1911), que novamente acendeu o interesse na personagem ao reescrever criativamente algumas baladas medievais para o público juvenil.
116 Referência ao local próximo à Volksrust, na África do Sul, onde os bôeres venceram os ingleses em 1881. Foi esta vitória sobre os ingleses que pôs fim à Primeira Guerra dos Bôeres e confirmou a força dos bôeres na mentalidade inglesa, pois o bordão “Lembremos de Majuba” se tornou popular.
CAPÍTULO VI
O Natal e os estetas
O MUNDO É REDONDO, tão redondo que escolas de otimismo e de pessimismo têm discutido, desde o início, se ele está de cabeça para cima ou para baixo. A dificuldade não surge tanto do simples fato de que o bem e o mal estejam misturados quase na mesma proporção. Surge, principalmente, do fato de que os homens sempre discordam a respeito de quais partes são as boas e quais são as más. Daí a dificuldade que enfrentam as “religiões não-denominacionais”. Afirmam incluir o que há de belo em todos os credos, mas parecem, para muitos, ter reunido tudo o que há de enfadonho. Todas as cores perfeitamente misturadas devem resultar num branco perfeito. Misturadas em qualquer paleta de cores humana, resultam em algo como lama, uma coisa muito parecida com várias das novas religiões. Tal mistura é amiúde muito pior do que qualquer credo tomado em separado, até mesmo que o credo dos Thugs.117 O erro surge da dificuldade de se detectar qual é a parte realmente boa e qual é a realmente má de qualquer religião. E esse pathos recai, de forma um tanto pesada, sobre aqueles que têm a desventura de pensar que as partes geralmente consideradas boas de uma religião sejam más e as geralmente consideradas más sejam boas.
É triste admirar, e admirar honestamente, um grupo humano, mas admirá-lo num negativo fotográfico. É difícil felicitar todos os brancos por serem pretos e todos os pretos pela brancura. Isso muitas vezes nos ocorre em relação às religiões humanas. Consideremos duas instituições que dão testemunho da energia religiosa do século XIX. Tomemos o Exército da Salvação118 e a filosofia de Auguste Comte.119
O juízo comum de pessoas instruídas a respeito do Exército da Salvação é expresso em palavras como estas: “Não tenho dúvidas de que fazem muitas coisas boas, mas o fazem num estilo vulgar e profano; a intenção é excelente, mas os métodos são errados”. Para mim, infelizmente, é o exato oposto disso que parece ser verdadeiro. Não sei se a intenção do Exército da Salvação é excelente, mas estou muito certo de que os métodos são admiráveis. Seus métodos são os métodos de toda religião enérgica e calorosa. São populares como toda religião, militares como toda religião, públicos e capazes de criar sensações como toda religião. Não são mais reverentes do que os católicos romanos, pois reverência no significado triste e sutil do termo é algo que só é possível aos infiéis. Encontraremos um belo crepúsculo em Eurípedes,120 em Renan,121 em Matthew Arnold;122 mas não o encontraremos em homens que crêem – teremos apenas riso e guerra. Um homem não pode prestar esse tipo de reverência à verdade sólida como mármore; pode apenas ser reverente a uma bela mentira. E o Exército da Salvação, embora tenha irrompido de forma desagradável num ambiente miserável, realmente, é a antiga voz da fé alegre e furiosa, calorosa como as orgias de Dionísio;123 selvagem como as gárgulas do catolicismo, e que não deve ser confundida com uma filosofia. O professor Huxley, numa de suas expressões inteligentes, chama o Exército da Salvação de “cristianismo coribântico”.124 Huxley foi o último e mais nobre daqueles estóicos que nunca entenderam a cruz. Se tivesse entendido o cristianismo, teria sabido que nunca houve, nem nunca pode haver um cristianismo que não seja coribântico.
Há ainda a diferença entre a questão das intenções e a questão dos métodos: julgar as intenções de algo como o Exército da Salvação é muito difícil, mas julgar os rituais e atmosfera é muito fácil. Ninguém a não ser, talvez, um sociólogo possa perceber que o projeto de abrigos do general Booth125 está correto. Mas qualquer pessoa saudável pode ver que tocar címbalos de metal deve dar certo.126 Uma página de estatística, um plano de moradias-modelo, qualquer coisa que seja racional, é sempre difícil para o leigo. Mas o que é irracional qualquer um pode entender. Por isso a religião surgiu desde o início do mundo e se espalhou tanto, ao passo que a ciência veio bem mais tarde e não se espalhou. A história é unânime em atestar o fato de que somente o misticismo tem a possibilidade de ser compreendido pelo povo. O senso comum tem de ser mantido como um segredo esotérico no obscuro templo da cultura. Dessa forma, enquanto a filantropia e a originalidade dos salvacionistas podem ser assuntos razoáveis para a discussão dos doutores, não deve haver dúvida sobre a originalidade da banda de música, pois uma banda de música é algo puramente espiritual, e busca apenas despertar a vida interior. O objeto da filantropia é fazer o bem; o objeto da religião é ser bom, mesmo se por um momento, em meio ao barulho da banda.
Há a mesma antítese noutra religião moderna – a religião de Comte, geralmente conhecida como Positivismo, ou Religião da Humanidade. Homens tais como o Sr Frederic Harrison,127 filósofo brilhante e cavalheiresco, cuja simples presença fala pelo credo –, diria que o que tem a oferecer é a filosofia de Comte, porém não todas as fantásticas propostas de Comte para pontificais e cerimoniais, o novo calendário, os novos feriados e dias santos. Não afirma que devamos nos vestir como padres da humanidade nem soltar foguetes no dia do aniversário de John Milton. Ao aguerrido comtista inglês tudo isso parece, ele mesmo confessa, um tanto absurdo. Para mim, essa é a única parte sensata do comtismo. Como filosofia é insatisfatória. Evidentemente é impossível adorar a humanidade, tal como é impossível adorar o Clube Savile,128 ambas excelentes instituições a que podemos, eventualmente, pertencer. Mas notamos claramente que o Clube Savile não cria as estrelas e não preenche o universo. E, certamente, é irracional atacar a doutrina da Trindade como um fragmento desconcertante de misticismo, e então pedir aos homens que adorem um ser que reúne noventa milhões de pessoas num só Deus, sem confundir as pessoas nem dividir a substância.
Mas se a sabedoria de Comte era insuficiente, a extravagância de Comte era sabedoria. Numa época de aborrecida modernidade, quando a beleza foi julgada tanto como algo bárbaro e repulsivo bem como algo ponderável, somente ele viu que os homens sempre devem ter a sacralidade de uma pantomima. Viu que embora os bárbaros tivessem todas as coisas úteis, as coisas verdadeiramente humanas eram as inúteis. Viu a falsidade da noção, hoje quase universal, de que ritos e formas são coisas artificiais, adicionais e corrompidas. O ritual é, realmente, muito mais antigo que o pensamento; é muito mais simples e bárbaro que o pensamento. Um sentimento, ao tocar a natureza das coisas, não faz somente os homens sentirem que há coisas apropriadas por dizer; os faz sentir que há certas coisas apropriadas por fazer. As mais agradáveis consistem em dançar, construir templos e gritar bem alto; as menos agradáveis seriam usar cravos verdes na lapela129 e lançar filósofos vivos na fogueira.130 Mas, em todos os lugares, a dança religiosa apareceu antes dos hinos religiosos, e o homem foi ritualista antes de conseguir falar. Se o comtismo tivesse se espalhado, o mundo teria sido convertido, não pela filosofia de Comte, mas pelo calendário comtista. Ao desaconselhar o que concebiam como a fraqueza do mestre, os positivistas ingleses diminuíram o poder de sua religião. Um homem de fé deve estar preparado não só para ser mártir, mas para ser tolo. É absurdo dizer que um homem está preparado para sofrer e morrer por suas convicções quando não está nem mesmo preparado para usar, por elas, uma grinalda em torno da cabeça. Eu mesmo, para usar um corpus vile,131 estou certo de que não leria a obra completa de Comte por motivo algum. Mas posso facilmente me imaginar acendendo uma fogueira, com grande entusiasmo, no dia de Darwin.
Este esplêndido esforço fracassou, e nada do tipo teve sucesso. Não há nenhum festival racionalista, nenhum êxtase racionalista. Os homens ainda estão se vestindo de preto pela morte de Deus. Quando, no último século, o cristianismo foi fortemente bombardeado, não houve ponto sobre o qual tenha sido atacado de forma mais persistente e brilhante do que o da referida inimizade com a alegria humana. Shelley132 e Swinburne133 e todos os exércitos pisaram e repisaram nesse terreno, mas não o alteraram. Não expuseram qualquer novo troféu ou bandeira que pudesse incitar a ruidosa folia do mundo. Não deram sequer um nome ou uma nova oportunidade para que o mundo pudesse alegremente se rejubilar. O Sr Swinburne não pendura as meias na véspera do nascimento de Victor Hugo.134 O Sr William Archer135 não entoa cantigas que falam da infância de Ibsen, sob a neve, nas portas das casas. Ao fim de um ano racional e pesaroso, ainda resta uma festividade entre todas as antigas ocasiões alegres que outrora cobriram toda a Terra. O Natal perdura para nos lembrar daqueles tempos, fossem pagãos ou cristãos, quando muitos representavam a poesia em vez de poucos a escreverem. Durante todo o inverno, em nossas florestas não há árvore mais radiante e rubra senão a Christmas Tree.136
A estranha verdade sobre o assunto pode ser vista na própria palavra “feriado” [holiday]. Um feriado bancário significa, possivelmente, um dia que os banqueiros consideram sagrado [holy]. Um dia de meio expediente [half-holiday] significa, suponho, um dia em que o estudante fica apenas parcialmente santificado. É difícil ver, a princípio, por que uma coisa tão humana quanto o lazer e os divertimentos devam ter sempre uma origem religiosa. Racionalmente, parece que não há razão por que não devamos cantar e dar presentes em honra de qualquer coisa – seja pelo nascimento de Michelangelo ou pela inauguração da Estação Euston. Mas a coisa não funciona assim. De fato, os homens somente se tornam ambiciosa e gloriosamente materialistas a respeito de algo espiritual. Desconsideremos o Credo de Nicéia e coisas similares, e traremos alguma estranheza injusta aos vendedores de lingüiça. Desconsideremos a estranha beleza dos santos e o que nos restará será a estranhíssima infâmia de Wandsworth.137 Desconsideremos o sobrenatural e o que permanecerá será o artificial.
E agora tenho de tocar numa questão muito triste. Há, no mundo moderno, uma admirável classe de pessoas que realmente protesta em nome daquela antiqua pulchritudo138 da qual falou Agostinho, que anseia pelos antigos festins e formalidades da infância do mundo. William Morris139 e seus discípulos mostraram quanto a Idade das Trevas foi mais brilhante do que a era de Manchester. O Sr W.B. Yeats140 forja os passos nas danças pré-históricas que ninguém, exceto ele, conhece, e une sua voz a coros esquecidos que qualquer um, a não ser ele, consegue ouvir. O Sr George Moore coleta cada fragmento do paganismo irlandês que por descuido a Igreja Católica tenha deixado para trás ou, possivelmente, por sabedoria, tenha preservado. Há várias pessoas de óculos e vestimentas verdes que oram pelo retorno da festa do mastro141 ou dos jogos olímpicos. Mas há algo assombroso e alarmante a respeito dessas pessoas que sugere que é possível que não comemorem o Natal. É doloroso olhar a natureza humana sob tal perspectiva, mas, de alguma forma, parece possível que o Sr George Moore não balance sua colher e grite quando o pudim é flambado.142 É mesmo possível que o Sr W.B. Yeats nunca puxe um cracker.143 Se assim for, qual o sentido de sonhar com festividades antigas e tradicionais? Eis aqui uma sólida e antiga festividade tradicional, muito requisitada pelo comércio e que consideram vulgar. Se assim for, deixemos que fiquem bem certos de que são o tipo de pessoa que, na época da festa do mastro, teriam-na considerado vulgar; que, no tempo da peregrinação a Canterbury, teriam-na considerado vulgar; que, no tempo dos jogos Olímpicos, teriam-nos considerado vulgares. Tampouco pode haver qualquer dúvida de que eram vulgares. Que nenhum homem se engane. Se por vulgaridade queremos dizer fala tosca, comportamento desordeiro, fofoca, brincadeiras grosseiras e bebedeira, ela existiu sempre que houve contentamento, onde quer que tenha existido fé nos deuses. Sempre onde há a crença existirá a hilaridade; onde quer que exista uma alegria súbita, sempre haverá algum perigo. E tal como as crenças e os mitos produzem essa vida grosseira e vigorosa, assim, por sua vez, tal vida grosseira e vigorosa sempre produzirá credos e mitos. Se um dia conseguirmos trazer os ingleses de volta para sua terra, novamente se tornarão um povo religioso e, se tudo correr bem, tornar-se-ão um povo supersticioso. A ausência, na vida moderna, tanto de formas superiores quanto de formas inferiores da fé, em grande parte, é devida a uma separação da natureza, das árvores e das nuvens. Se não temos mais lanterninhas de nabo,144 isso se deve, principalmente, à falta de nabos.
117 Um grupo de bandidos e assassinos na Índia que cometiam crimes como sacrifício para a deusa Kali. A palavra entrou na língua inglesa como substantivo comum para designar bandido, rufião.
118 Grupo fundado em 1865, em Londres, pelo pastor metodista William Booth (1829–1912) e sua esposa e, até hoje, uma das maiores instituições de caridade do mundo.
119 Auguste Comte (1789–1857), fundador do positivismo e criador da sociologia. Em termos religiosos, excluiu a religião revelada e substituiu a revelação pela própria humanidade ao criar a “religião da humanidade”, que presta culto aos grandes gênios da humanidade. Sua doutrina influenciou bastante a cultura brasileira.
120 Eurípedes (485 a.C.–406 a.C.) foi o último dos três grandes autores trágicos da Atenas Clássica. É conhecido por lançar dúvidas, em suas peças, sobre os deuses tradicionais. O comediógrafo Aristófanes (447 a.C.–385 a.C.), na peça As Rãs, o considera um perfeito esteta, porém o critica por pregar o belo sem o bem.
121 Joseph Ernest Renan (1823–1892), escritor francês que anteviu um estado em que a filosofia e a cultura tomariam o lugar da política e da religião. Mais conhecido pelo livro La vie de Jésus (1863), em que retrata o Cristo como um mestre inspirado, mas uma pessoa totalmente humana.
122 Matthew Arnold (1822–1888) foi um poeta e crítico cultural inglês. Entusiasta dos temas sociais, criticava o espírito de sua época. Influenciado por Baruch Spinoza (1632–1677) e por seu pai, o educador e historiador Thomas Arnold (1795–1842), rejeitou os elementos supersticiosos da religião, mas manteve a fascinação pelos rituais. Definia a religião como “moralidade com traços de emoção”.
123 Deus grego equivalente ao deus Baco romano, patrono do vinho, da alegria e das festas.
124 Relativo ao culto da deusa Cibele, cujos ritos eram celebrados com música e danças extáticas.
125 Como o Exército da Salvação possuía uma estrutura militar, o fundador foi o primeiro a ter o posto de General.
126 Referência às bandas utilizadas pelo Exército da Salvação para chamar a atenção do povo na pregação do Evangelho.
127 Frederic Harisson (1831–1923) foi o tradutor de Comte para a língua inglesa e presidente do Comitê Positivista inglês durante 25 anos.
128 Clube privado inglês, fundado em 1868, e um dos mais prestigiosos da Inglaterra.
129 Referência ao adereço popularizado por Oscar Wilde (1854–1900) e que passou a ser considerado símbolo de preferências homossexuais na Inglaterra vitoriana.
130 Provavelmente, Chesterton está se referindo ao incidente ocorrido com Thomas Hardy (1840–1928) em 1896, quando um bispo lançou às chamas, num ato público e solene, dois de seus romances acusados de imoralidade. Na ocasião, Hardy dissera que o bispo teria queimado o livro “por não ter sido capaz de lançá-lo às chamas”.
131 Literalmente significa um corpo sem valor, mas a expressão é usada para algo que pode ser facilmente descartado e usado em experimentos. Figurativamente refere-se ao sujeito de um experimento.
132 Percy Bysshe Shelley (1792–1822) foi um dos maiores poetas românticos ingleses, amigo de Lord Byron (1788–1824), John Keats (1795–1821) e casado com Mary Shelley (1797–1851). Foi também um dos grandes defensores do ateísmo.
133 Algernon Charles Swinburne (1837–1909) foi um poeta decadentista inglês altamente controverso por tratar de temas como sadomasoquismo, desejo de morte, lesbianismo e irreligiosidade.
134 Victor Hugo (1802–1885) foi um escritor e poeta francês de grande atuação humanista e política. Em relação ao tema religioso, em 1880, escreveu Religião e religiões em que afirmava a inutilidade das igrejas e atacava as religiões organizadas. Dentre as obras mais famosas podemos citar os romances Notre-Dame de Paris (1831), também conhecido como “O corcunda de Notre-Dame” e Os miseráveis (1862).
135 William Archer (1856–1924), crítico, dramaturgo e tradutor das peças de Ibsen para língua inglesa.
136 A tradução literal seria “árvore de Natal”, no entanto, Chesterton se refere à planta que na Inglaterra chamam de Christmas Holly Tree (ilex aquifolium), e que em português chamamos de azevinho, arbusto que pode chegar aos seis metros de altura, usado para a confecção de guirlandas de Natal. Extremamente resistente, mantém as folhas e os frutos vermelhos durante todo o inverno e se destaca na paisagem branca e sem vida dessa estação do ano no hemisfério norte.
137 Embora a edição da Ignatius Press diga que Chesterton se refere à feiúra de um bairro de Londres ao sul do rio Tâmisa, acreditamos que o autor se refira à Sydney Stern, Primeiro Barão de Wandsworth (1844–1912). Filho de um banqueiro judeu, ganhou o título de nobreza após servir como membro do parlamento pelo Partido Liberal. Como permaneceu solteiro e sem filhos, deixou toda a fortuna para a criação de um orfanato. Sua obra perdura até hoje como uma escola para crianças carentes e uma fundação que traz seu nome. Vale lembrar que Chesterton via com desconfiança todos os capitalistas, em especial os banqueiros, bem como via com maus olhos os filantropos e, segundo alguns comentaristas polêmicos, não simpatizava com os judeus. Na presente obra, podemos confirmar a restrição aos filantropos nos capítulos XIX e XX.
138 Trecho em latim que significa “beleza antiga”. Referência à passagem da obra Confissões de Santo Agostinho, livro X, cap. 27: “Tarde vos amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde vos amei!”.
139 William Morris (1834–1896), pintor e escritor inglês. Socialista de tendências anarquistas, foi fundador do Movimento Arts & Crafts [de Artes e Ofícios] britânico e um crítico ferrenho das manufaturas; pregava a volta dos artesãos, elevando-os à condição de artistas, algo que se alinha com as idéias distributistas de Chesterton. Chesterton faz referência à sua obra poética no capítulo IX.
140 William Butler Yeats (1865–1939) foi poeta, dramaturgo e místico irlandês. Inspirou muitas de suas obras em mitos e lendas irlandesas, sendo um dos responsáveis pelo renascimento celta. Ver opinião de Chesterton sobre este autor e suas crenças no capítulo XIII.
141 Em inglês, maypole. Há uma grande controvérsia a respeito de sua origem, mas muitos acreditam ser um costume pagão de origem germânica. Normalmente o levantamento do mastro ocorre em maio ou no meio do verão. Entre os festejos possíveis ao redor do mastro há a dança do pau de fitas, muito popular no sul do Brasil.
142 Referência ao costume de flambar o Christmas pudding com brandy no momento de servir.
143 Os Christmas Crackers foram inventados em 1846 por um confeiteiro inglês durante uma visita a Paris e se tornaram uma tradição inglesa. São tubos de cartolina decorados, cujas extremidades são retorcidas como bombons. Há um dispositivo dentro do tubo que, ao ser puxado por duas pessoas, faz com que o tubo se rompa causando um grande estalo e liberando pequenos presentes e doces.
144 Referência ao tipo de lanterna tradicional de Halloween chamada de turnip ghost. Antecederam as famosas lanternas de abóbora dos Estados Unidos e são escavadas no nabo, com olhos e boca recortados.
CAPÍTULO VII
Omar e a vinha sagrada
UMA NOVA MORALIDADE veio ao nosso encontro com certa violência e se relaciona ao problema da bebida alcoólica. Os entusiastas do assunto variam desde o homem que é posto para fora dos pubs ingleses às 00h30 até a dama que ataca os balcões dos bares com um machado. Em tais discussões, quase sempre sentimos que uma postura moderada e bastante sábia é dizer que o vinho, ou coisas do tipo, devem ser ingeridos como remédio. Atrevo-me a discordar disso com particular veemência. A forma genuinamente perigosa e imoral de tomar vinho é tomá-lo como remédio. E por esta razão: se alguém bebe vinho por prazer, está tentando obter algo excepcional, algo que não espera a qualquer hora do dia, algo que, a menos que seja um tanto louco, não tentará obter a qualquer hora do dia. Mas se alguém bebe vinho para ter saúde, está tentando obter algo natural; ou seja, algo sem o que não consegue viver; algo sem o que dificilmente passará sem consumir. Pode ser que aquele que não tenha visto o êxtase de ficar extático não fique seduzido; é mais fascinante vislumbrar o êxtase de estar normal. Se houvesse um ungüento mágico, e o mostrássemos a um homem forte e lhe disséssemos: “Isto te permitirá saltar do Monumento”,145 sem dúvida saltaria, mas não ficaria saltando durante o dia todo para alegrar o centro da cidade. Mas se mostrássemos o ungüento a um cego e lhe disséssemos, “Isto te permitirá recobrar a visão”, essa pessoa ficaria fortemente tentada. Ser-lhe-ia difícil não esfregá-lo nos olhos quando ouvisse o galopar de um nobre cavalo ou o cantar de pássaros ao alvorecer. É fácil não permitir que alguém tenha prazeres; difícil é negar a aquisição da normalidade. Por isso, e todos os médicos sabem, é sempre perigoso dar bebida alcoólica aos doentes mesmo quando precisam. Inútil dizer que não considero que dar bebida alcoólica como estimulante a um doente seja necessariamente injustificado. Mas considero o dar bebidas alcoólicas a pessoas saudáveis como divertimento um uso apropriado e muito mais coerente com a saúde.
A regra sadia nessa questão parece ser a mesma de muitas outras regras saudáveis – um paradoxo. Beba por estar feliz, mas nunca por se sentir extremamente infeliz. Nunca beba quando estiver infeliz por não ter uma bebida, ou irá parecer um triste alcoólatra caído na calçada. Mas beba quando, mesmo sem a bebida, estaria feliz, e isso o tornará parecido com um risonho camponês italiano. Nunca beba por precisar disso, pois tal ato racional é o caminho para a morte e o inferno. Mas beba por não precisar disso, pois beber irracionalmente é a antiga fonte de saúde do mundo.
Por mais de trinta anos o vulto e a glória de uma grande figura oriental têm sido impostos à literatura inglesa. A tradução de Fitzgerald dos Rubáiyát de Omar Khayyam146 concentrou, com imorredoura comoção, todo o sombrio e desnorteado hedonismo de nossa época. Seria simplesmente inútil falar do esplendor literário da obra; poucos são os livros dos homens que conseguiram combinar tão bem a alegre combatividade de um epigrama com a vaga tristeza de uma canção. Mas, sobre a influência filosófica, ética e religiosa, que é tão grande quanto o esplendor, gostaria de dar uma palavra, e tal palavra, confesso, é de uma hostilidade intransigente. Há muitas coisas que podem ser ditas contra o espírito do Rubáiyát, e contra sua enorme influência. Mas uma acusação se destaca das demais de forma nefasta – uma verdadeira desgraça para a obra, uma calamidade genuína para todos. Tal acusação seria o golpe terrível que o grande poema desferiu na sociabilidade e na alegria da vida. Alguém já chamou Omar de “o vetusto persa jubilosamente triste”.147 Triste é; mas não jubiloso, em nenhum dos sentidos da palavra. Tem sido um inimigo da alegria pior que os puritanos.
Um oriental pensativo e elegante repousa debaixo de uma roseira, com uma garrafa de vinho e seu rolo de poemas. Pode parecer estranho que nossos pensamentos, no momento em que visualizamos tal cena, se voltem à sombria cabeceira do leito em que o médico oferece ao doente um cálice de brandy. Pode parecer ainda mais estranho que tal pensamento possa se voltar para o trêmulo vagabundo com um copo de gim em Houndsditch.148 Contudo, uma grande unidade filosófica envolve os três elementos num elo maligno. O beberricar vinho de Omar Khayyam é mau, não porque seja um sorvo de vinho. É ruim, e muito nocivo, porque é um beber medicinal. É o beber de um homem que bebe porque não é feliz. Seu vinho é o que o exclui do universo, não aquilo que lho revela. Não é um beber poético, alegre e instintivo; é um beber racional, tão prosaico quanto um investimento, tão insípido quanto um cálice de camomila. Infinitamente superior, do ponto de vista do sentimento, embora não do estilo, surge o esplendor de uma antiga canção boêmia inglesa:
Then pass the bowl, my comrades all,
And let the zider vlow.149
Pois esta canção era entoada por homens felizes, para expressar o valor das coisas verdadeiramente valorosas, da irmandade e loquacidade, e do breve e cordial lazer do pobre. É claro que a maior parte das acusações mais disparatadas dirigidas à moralidade omariana são tão falsas e pueris quanto geralmente são tais acusações. Um crítico, cuja obra já li, teve a incrível insensatez de considerar Omar ateu e materialista.150 É quase impossível para um oriental ser uma coisa ou outra. O oriente conhece metafísica muito bem para que isso aconteça. A verdadeira objeção filosófica que um cristão poderia apresentar à religião de Omar não é, por certo, a de não conceder um lugar para Deus, mas sim a de lhe dar espaço demais. É de um teísmo terrível que não consegue imaginar nada exceto a divindade, e nega completamente os elementos da personalidade e da vontade humana.
A bola não questiona “sim” ou “não”,
Mas vai aqui e ali, conforme bate o jogador;
E ele, que a lançou neste campo,
Ele tudo sabe – ele sabe – ele sabe!151
Um pensador cristão como Agostinho ou Dante se oporia a isso porque ignora o livre-arbítrio, que é o valor e a dignidade da alma. A contenda da alta cristandade com esse tipo de ceticismo, no mínimo, não é porque o ceticismo nega a existência de Deus; é porque nega a existência do homem.
No culto dos que buscam o prazer pessimista, o Rubáiyát tem lugar de destaque em nossa época; mas não está sozinho. Muitas das inteligências mais brilhantes de hoje têm nos incitado a semelhante desfrutar súbito de prazeres excepcionais. Walter Pater152 disse que estamos todos sob sentença de morte, e o único curso possível é o desfrutar de deliciosos momentos por amor aos próprios momentos. Semelhante lição foi ensinada pela poderosa e infeliz filosofia de Oscar Wilde. É a religião do carpe diem.153 No entanto, a religião do carpe diem não é a religião das pessoas felizes, mas a das absolutamente infelizes. A grande alegria não colhe o botão de rosas quando pode;154 seus olhos estão fixos na rosa imortal vista por Dante.155 A grande alegria traz em si o sentido da imortalidade; o próprio esplendor da juventude é a sensação de que há muito espaço para esticar as pernas. Em toda a grande literatura cômica, em Tristram Shandy156 ou Pickwick,157 há um senso de espaço e incorruptibilidade; sentimos que as personagens são seres imortais numa lenda interminável.
É bem verdade, claro, que uma felicidade pungente surge, sobretudo, em alguns momentos fugazes; mas não é verdade que deveríamos pensá-los como passageiros, ou desfrutá-los simplesmente “por amor aos próprios momentos”. Fazer isso é racionalizar a felicidade e, portanto, destruí-la. A felicidade é um mistério, como a religião, e nunca deve ser racionalizada. Suponhamos que um homem experimente um esplêndido momento de prazer. Não quero dizer algo com um verniz de felicidade; falo de algo como uma violenta felicidade interior – uma felicidade quase dolorida. Alguém pode ter, por exemplo, um momento de êxtase no primeiro amor, ou um momento de vitória numa batalha. O amante desfruta o momento, mas não por causa do momento. Ele o desfruta pela mulher, ou para o próprio bem. O guerreiro desfruta o momento, mas não pelo momento; desfruta-o por causa da bandeira. A causa que a bandeira representa pode ser tola e passageira; o amor pode ser apenas um arrebatamento juvenil, e durar uma semana. Mas o patriota acredita na bandeira como eterna. O amante vê seu amor como algo que não pode terminar. Esses momentos são repletos de eternidade; esses momentos são jubilosos porque não parecem transitórios. Uma vez que os olhemos como momentos à maneira de Pater, se tornam tão frios quanto Pater e seu estilo. Os homens não podem amar coisas mortais. Só conseguem, por um instante, amar as coisas imortais.
O erro de Pater é revelado em sua expressão mais famosa. Ele nos convida a “arder com o inflexível fulgor de uma pedra preciosa”.158 O brilho nunca é rijo e nunca se parece com uma jóia – não pode ser manuseado ou organizado. Do mesmo modo, as emoções humanas nunca são inflexíveis e nunca se parecem com jóias. São sempre perigosas, assim como o brilho das chamas, ao toque ou mesmo à averiguação. Há somente um modo pelo qual as paixões podem ser rijas e se assemelharem às pedras preciosas: tornarmo-nos frios como os diamantes. Até então, nenhum golpe aos amores e às gargalhadas espontâneas dos homens foi tão esterilizante quanto esse carpe diem dos estetas. Para qualquer tipo de prazer, é preciso um espírito totalmente diferente; certa timidez, certa esperança vaga, certa expectativa infantil. Pureza e simplicidade são essenciais às paixões – sim, mesmo às vis paixões. Até o vício exige uma espécie de virgindade.
O efeito de Omar (ou de Fitzgerald) sobre o outro mundo pode ser afastado, mas sua mão sobre este mundo tem sido pesada e paralisante. Os puritanos, como disse, são muito mais alegres. Os novos ascetas que seguiram Thoreau159 ou Tolstói160 são companhias mais cheias de vida; pois, embora o abandono à bebedeira e aos semelhantes luxos nos possa parecer uma negação inútil, ele pode legar ao homem inumeráveis prazeres naturais, e, acima de tudo, submetê-lo ao poder natural da felicidade. Thoreau podia apreciar o nascer do sol sem uma xícara de café. Se Tolstói não podia admirar o casamento, ao menos era bastante saudável para admirar a lama. A natureza pode ser apreciada mesmo sem a maioria dos confortos naturais. Um belo bosque não necessita de vinho. No entanto, nem a natureza nem o vinho, nem nada mais, pode ser apreciado se assumirmos uma postura errada em relação à felicidade, e Omar (ou Fitzgerald) tinha uma postura errada em relação à felicidade. Ele e aqueles a quem vem influenciando não percebem que se pretendemos ser verdadeiramente felizes, devemos acreditar que há uma felicidade eterna na natureza das coisas. Não conseguimos apreciar plenamente nem mesmo um pas-de-quatre161 num baile público a menos que acreditemos que as estrelas estejam dançando a mesma música. Ninguém pode ser realmente hilário senão o homem sério. “O vinho”, diz a Escritura, “alegra o coração do homem”,162 mas somente do homem que tem coração. O chamado espírito elevado163 é possível somente ao homem espiritual. No fim das contas, um homem não pode se alegrar com nada, a não ser com a natureza das coisas. No fim das contas, um homem não pode se alegrar com nada, a não ser com a religião.
Outrora, na história do mundo, os homens realmente acreditaram que as estrelas dançavam ao som da música dos templos, e dançaram como nunca se dançara desde então. A respeito desse antigo eudaimonismo164 pagão, o sábio do Rubáiyát tem tão pouca relação quanto a tem com um cristão de qualquer denominação. Não é um adorador de Baco nem um santo. A igreja de Dionísio era fundada num sério joie-de-vivre como a de Walt Whitman.165 Dionísio fez do vinho não um remédio, mas um sacramento. Jesus Cristo também fez do vinho não um remédio, mas um sacramento. Mas Omar o fez não um sacramento, mas um remédio. Festeja não porque a vida é prazerosa; diverte-se porque não está feliz. Diz: “Bebei, pois não sabeis de onde vindes nem por quê. Bebei, pois não sabeis quando nem aonde ireis”.166 Bebei, porque as estrelas são cruéis e o mundo é tão sem propósito quanto um pião. Bebei, porque não há nada em que valha a pena crer, nada por que lutar. Bebei, porque todas as coisas se passam numa regularidade ignóbil e numa paz nociva. Dessa maneira, o poeta nos oferece a taça que está em suas mãos. E no altar-mor da cristandade se encontra outra personagem, em cujas mãos também há um cálice de vinho. Ele diz: “Bebei, pois todo o mundo é tão vermelho quanto o vinho, tão carmesim quanto o amor e a ira de Deus. Bebei, pois já soam as trombetas da batalha e esta é a taça transbordante. Bebei, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Bebei, pois Eu sei de onde vindes e por quê. Bebei, pois Eu sei aonde ireis e quando”.
145 Referência ao monumento ao grande incêndio de Londres, construída por Sir Christopher Wren (1632–1723) entre 1671 e 1677. O monumento, erigido próximo ao local onde iniciou o grande incêndio de Londres em 1666, é uma coluna de pedra em estilo dórico e tem cerca de 60 metros de altura.
146 Edward Fitzgerald (1809–1883) publicou, em 1859, a versão poética traduzida para o inglês da obra Rubáiyát do poeta iraniano Omar Khayyam (1048–1131) e tal trabalho se tornou imensamente popular, embora a obra guarde pouca relação com o texto original.
147 Chesterton, sem dar crédito, cita o livre-pensador secularista e editor George William Foote (1850–1915), anteriormente mencionado no capítulo II, que se refere ao autor persa como “the sad-glad old persian” no ensaio “Rose-water Religion” de 1894.
148 Rua de Londres que seguia o mesmo trajeto do antigo fosso romano, construído fora dos muros de Londres. No século XIX era o local onde se aglomeravam miseráveis e bêbados.
149 Algo como: “Então passem a taça, camaradas, / E deixem a sidra rolar”. A graça está no último verso, que reproduz a fala de bêbado: “and let the zider vlow” ao invés de “and let the cider flow”.
150 Provável referência à obra de John M. Robertson (1859–1933), jornalista inglês, defensor do racionalismo e do secularismo. Foi membro do parlamento pelo Partido Liberal e discípulo de Charles Bradlaugh (1833–1891). Em A Short History of Freethought Ancient and Modern, cujo primeiro volume apareceu em 1899, há um capítulo “Freethought under Islam” onde o autor se refere ao persa nesses termos.
151 A presente estrofe é uma tradução literal (e livre) da quadra LXX de Fitzgerald que diz: “The Ball no Question makes of Ayes and Noes, / But Right or Left as strikes the Player goes; / And He that toss’d Thee down into the Field, / He knows about it all–HE knows–HE knows!”. Atualmente, vários estudiosos já contestaram a seriedade desta tradução, dentre eles, Jorge Luis Borges (1899–1986) que, num ensaio chamado “O enigma de Edward Fitzgerald”, atribuiu ao inglês a “invenção” dos Rubáiyát. A presente estrofe, se confrontada com várias traduções para o português da mesma obra, parece não corresponder a nenhuma passagem. Se fizermos uma tradução mais literal do poema diretamente do persa o trecho ficaria da seguinte forma: “No jogo cósmico de polo és a bola / À direita e à esquerda do bastão fica a tua vocação / É ele quem te move, levanta ou faz cair / Ele é aquele, o único, que tudo sabe”.
152 Walter Horatio Pater (1839–1894) foi um ensaísta, crítico de arte e escritor de ficção inglês. Neste e nos parágrafos seguintes, Chesterton está fazendo referência à famosa conclusão de Pater na obra Studies in the History of Renaissance de 1873, chamado a partir da segunda edição de The Renaissance: Studies in Art and Poetry. Sobre o lema e filosofia de Pater, ver capítulo XVII.
153 Expressão tirada de um verso do poeta Horácio (65 a.C.–8 a.C.) em Odes, Livro I, 11, 8 que diz: “Carpe diem quam minimum credula postero” [Colhe o instante, sem confiar no amanhã]. Interpretada como “aproveite o momento” ou “desfrute o dia”.
154 Referência aos versos de abertura do poema “To the Virgins, to Make Much of Time” de Robert Herrick (1591–1674): “Gather ye rosebuds while ye may / Old Time is still a-flying; / And this same flower that smiles today, / Tomorrow will be dying”.
155 Referência à visão que o poeta tem da rosa mística ao centro da rosa dos beatos como luz, fulgurante, no Empíreo. Ver canto XXX e XXXI do “Paraíso” na Divina Comédia de Dante Alighieri (1265–1321).
156 Referência ao romance The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman de Laurence Sterne (1713–1768), fortemente influenciado por François Rabelais (1494–1553) e Miguel de Cervantes (1547–1616). A obra compreende nove volumes e influenciou muitos escritores modernistas como Virginia Woolf (1882–1941) e James Joyce (1882–1941).
157 Referência ao romance de Charles Dickens (1812–1870), The Pickwick Papers, lançado em formato de folhetim de 1836 a 1837, em que o autor faz várias críticas à sociedade vitoriana.
158 A expressão aparece na conclusão da já citada obra de Walter Pater sobre a Renascença.
159 Henry David Thoreau (1812–1862) foi um poeta, historiador e filósofo norte-americano, cuja tese da desobediência civil influenciou o pensamento político de muitos filósofos e ativistas como seu contemporâneo russo, Liev Tolstói, e posteriormente, Gandhi (1869–1948) e Martin Luther King, Jr. (1929–1968). Também defendia a volta à natureza, o abandono do desperdício e da ilusão para descobrir as necessidades essenciais da vida.
160 Liev Nikoláievich Tolstói (1828–1910) foi um dos grandes escritores russos. No fim da vida se tornou um pacifista e pregou uma vida simples em contato com a natureza. Chesterton discorrerá sobre o autor, neste livro, no capítulo X.
161 Um divertissement de balé com quatro bailarinos, cuja primeira coreografia ocorreu em 1845, em Londres, e alcançou enorme sucesso.
162 Sl 103, 15.
163 Há, nesta passagem, um duplo sentido intraduzível, pois o termo spirits, além de indicar disposição, temperamento, vigor ou vivacidade, em inglês pode significar bebida alcoólica.
164 Doutrina segundo a qual a felicidade é o valor supremo, critério último da razão e objetivo da vida humana.
165 Walt Whitman (1819–1892) foi um poeta, ensaísta e jornalista norte-americano, considerado “o pai do verso livre”. Embora fosse defensor de um estilo de vida “vagabundo”, propunha a abstinência alcoólica. Em termos de religião era bastante cético em relação às igrejas; politicamente, propunha uma visão igualitária das raças. Na principal obra, Leaves of Grass, de 1855, podem ser vistos traços de homossexualismo, fato que escandalizou seus contemporâneos.
166 Quadra LXXIV da tradução de Fitzgerald. Em inglês: “Drink, for you know not whence you come nor why. / Drink, for you know not when you go nor where”.
CAPÍTULO VIII
A brandura da imprensa marrom167
HOJE EM DIA há protestos de todos os lados contra a influência do novo jornalismo associado aos nomes de Sir Alfred Harmsworth168 e do Sr Pearson.169 Mas quase todos os que atacam esse jornalismo o fazem por ser muito sensacionalista, violento, vulgar e alarmante. Não falo movido por contrariedade, mas pela simplicidade de uma impressão pessoal, quando digo que esse jornalismo irrita por não ser suficientemente sensacionalista ou violento. O verdadeiro vício não é ser alarmante, mas quase insuportavelmente enfadonho. O objetivo é, exatamente, manter certo nível de coisas esperadas e de lugares-comuns; deve ser vulgar, mas também deve ter o cuidado de ser superficial. Não há, de forma alguma, nada daquela aflição plebéia que pode ser ouvida de um motorista de táxi comum numa rua qualquer. Ouvimos falar de certo padrão de decoro que exige que as coisas devam ser divertidas sem vulgaridade. Contudo, este padrão de decoro exige que, caso as coisas sejam vulgares, devam ser vulgares sem serem divertidas. Esse jornalismo não é apenas incapaz de exagerar a vida – ele positivamente a subestima; e tem de fazer isso porque se destina à recreação leve e lânguida de homens que a selvageria da vida moderna levou à exaustão. Essa não é, em absoluto, a imprensa marrom; é a imprensa banal. Sir Alfred Harmsworth não deve dirigir ao balconista exaurido nenhuma observação mais inteligente do que a que este balconista seria capaz de dirigir a Sir Alfred Harmsworth. Não deve expor ninguém (isto é, alguém importante), não deve ofender ninguém, não deve nem mesmo agradar, por demais, quem quer que seja. Uma idéia geral e imprecisa de que, apesar de tudo, nossa imprensa marrom é sensacionalista surge de acidentes externos, tais como letras grandes e manchetes lúgubres. É bem verdade que tais editores imprimem tudo o que podem em grandes letras maiúsculas. Porém o fazem, não porque seja espalhafatoso, mas por ser tranqüilizador. Para pessoas totalmente esgotadas e parcialmente bêbadas em trens pouco iluminados é uma simplificação e um conforto ver as coisas apresentadas de maneira ampla e óbvia. Os editores usam letras gigantes ao tratar com os leitores, exatamente pela mesma razão que pais e professoras usam letras gigantes similares ao ensinar as crianças a ler. As professoras primárias não usam um “A” do tamanho de uma ferradura para fazer a criança ter um sobressalto; ao contrário, o utilizam para trazer conforto, para tornar as coisas mais suaves, mais evidentes. Da mesma natureza é a obscura e pacata escola para senhoras mantida por Sir Alfred Harmsworth e pelo Sr Pearson. Todas as opiniões são opiniões de cartilha – isto é, são opiniões com as quais o aluno já está respeitosamente familiarizado. As mais bárbaras reportagens são páginas arrancadas de um caderno de caligrafia.
Do verdadeiro jornalismo sensacionalista, como existe na França, na Irlanda e nos Estados Unidos, não vemos, neste país, o menor vestígio. Quando um jornalista na Irlanda deseja causar emoção, cria algo que vale a pena ser comentado. Denuncia um importante político irlandês por corrupção ou acusa todo o sistema policial de uma perversa conspiração. Quando um jornalista francês deseja um frisson, o frisson acontece. Descobre, digamos, que o Presidente da República assassinou três esposas. Nossos jornalistas sensacionalistas inventam coisas tão inescrupulosas quanto estas; a condição moral deles é, quanto à veracidade, quase a mesma, mas o calibre mental é tal que só conseguem inventar coisas calmas e tranqüilizadoras. A versão imaginária do massacre dos enviados a Pequim foi mentirosa,170 mas nem por isso interessante, exceto para aqueles que tinham razões pessoais para se sentirem aterrorizados ou pesarosos. Não tinha relação com qualquer visão ousada ou sugestiva da situação chinesa.171 Só revelou a idéia imprecisa de que nada traria comoção, exceto uma grande quantidade de sangue. O verdadeiro sensacionalismo, do qual ouso ser bastante afeiçoado, tanto pode ser moral quanto imoral. No entanto, mesmo quando é mais imoral, requer coragem moral, pois uma das coisas mais perigosas do mundo é verdadeiramente surpreender alguém. Caso façamos qualquer criatura senciente pular de susto, sem dúvida não devemos nos esquecer ser provável que ela pule em nós. Mas os líderes desse movimento não têm coragem moral nem imoral; o método deles consiste em dizer, com grande e elaborada força dialética, as coisas que todo o mundo diz casualmente, sem lembrar o que disse. Quando se unem para atacar qualquer coisa, nunca chegam ao ponto de atacar algo grande e real e que crie ressonância com o choque. Não atacam o exército, como fazem as pessoas na França, ou os juízes como fazem as pessoas na Irlanda, ou a própria democracia como faziam as pessoas na Inglaterra há cem anos. Investem contra algo como o Departamento de Guerra – ou seja, algo que todo o mundo ataca e ninguém se preocupa em defender, algo que é uma velha piada nos jornais de quarta categoria. Assim como alguém mostra ter voz fraca ao forçar um grito, da mesma forma mostram a natureza irremediavelmente não-sensacionalista de suas mentes ao tentar ser verdadeiros sensacionalistas. Com o mundo repleto de instituições grandes e dúbias, diante de toda a maldade da civilização, a idéia que têm de ousadia e brilhantismo é atacar o Departamento de Guerra. Também podem ainda iniciar uma campanha contra o clima, ou formar uma sociedade secreta para criar piadas de sogra. Não somente do ponto de vista de determinados amadores do sensacionalismo como eu, que é lícito dizer, nas palavras de Cowper172 em The Solitude of Alexander Selkirk,173 que “Sua mansidão causa-me desgosto”. Todo o mundo moderno anseia por um jornalismo genuinamente sensacionalista. Isto foi descoberto por aquele jornalista muito capaz e honesto, o Sr Blatchford,174 que começou uma campanha contra o cristianismo, e creio fora advertido por ambos os lados que com tal polêmica arruinaria seu jornal, porém continuou por um nobre senso de responsabilidade intelectual. No entanto, descobriu que, sem dúvida, à medida que escandalizava os leitores, seu jornal muito prosperava. Passou a ser comprado – primeiramente, por todos os que concordavam com ele e o queriam ler; depois, por todos que discordavam dele e queriam lhe escrever cartas. Tais cartas eram copiosas (ajudei, fico feliz em dizer, a fazer o jornal aumentar em volume) e, geralmente, eram publicadas quase sem cortes. Assim, a grande máxima do jornalismo foi acidentalmente descoberta (tal como a máquina a vapor): caso um editor consiga enfurecer suficientemente as pessoas, elas escreverão, de graça, quase metade do jornal.
Alguns acreditam que tais jornais dificilmente serão objetos apropriados para tão sérias considerações; mas isso quase não pode ser defendido se partirmos de um ponto de vista político ou moral. No problema da condescendência e mansidão da mentalidade de Harmsworth se refletem os contornos de um problema semelhante muito maior.
O jornalista harmsworthiano, que começa a adorar o sucesso e a violência, acaba no mais absoluto desânimo e mediocridade. Mas não está só e nem chegou a ter tal sorte por ser particularmente obtuso. Todo homem, por mais que seja corajoso, ao começar a prestar culto à violência, acaba por ficar sem ânimo. Todo homem, por mais que seja sábio, ao começar a prestar culto ao sucesso, acaba na mediocridade. Tal destino estranho e paradoxal compromete não o indivíduo, mas a filosofia, o ponto de vista. Não é a insensatez do homem que causa a inevitável ruína; é a sabedoria. O culto ao sucesso é somente um dentre todos os possíveis cultos em que isso é verdade: os seguidores estão predestinados a se tornar escravos e covardes. Um homem pode ser um herói à custa das cifras da Sra Gallup175 ou pelo sacrifício humano, mas não por causa do sucesso. Obviamente, um homem pode preferir fracassar por amor à Sra Gallup ou ao sacrifício humano; mas não pode preferir fracassar por amor ao sucesso. Quando o teste do triunfo é o teste supremo de certos homens, estes não resistem tempo suficiente para triunfar. Enquanto tudo for verdadeiramente promissor, a esperança é simples lisonja ou lugar-comum. Somente quando não houver mais esperança é que ela começará a ser uma força. Como todas as virtudes cristãs, a esperança é tão despropositada quanto indispensável.
Foi por intermédio desse paradoxo fatal presente na natureza das coisas que todos os modernos aventureiros chegaram, por fim, a uma espécie de tédio e concordância. Desejaram a força; e para eles, desejar a força significava admirar a força; admirar a força era simplesmente admirar o status quo. Acreditaram que aquele que desejasse ser forte deveria respeitar o forte. Não perceberam a verdade óbvia de que aquele que deseja ser forte deve desprezar o forte. Procuraram ser tudo, ter toda a força do cosmo a seu favor, ter um vigor que movesse as estrelas. Mas não perceberam dois grandes fatos – primeiro, na tentativa de ser tudo, o primeiro passo, e o mais difícil, é ser alguma coisa; segundo, que no momento em que um homem é algo, está, em essência, desafiando tudo. Os animais inferiores, dizem os homens de ciência, abriram caminho na cadeia evolutiva num egoísmo cego. Se as coisas são assim, a única verdadeira moral é que nossa generosidade, para triunfar, deve ser igualmente cega. O mamute não inclinou a cabeça e ficou pensando consigo mesmo se os mamutes estavam ou não um pouquinho obsoletos. Os mamutes, ao menos, eram tão atuais quanto poderia crer aquele mamute individual. O grande alce não dizia: “Agora os cascos fendidos estão muito desgastados”. Lustrava as próprias defesas para o uso. Contudo, para o animal racional surgiu um perigo muito mais deplorável: o de fracassar pela percepção do próprio fracasso. Quando os sociólogos modernos falam da necessidade de adaptação do indivíduo às tendências da época, esquecem-se de que o que há de melhor em tais tendências é totalmente criado por pessoas que não se adaptarão a nada. Na pior das hipóteses, as tendências compreenderão muitos milhões de criaturas amedrontadas, todas se adaptando a algo que não existe. E isto está se tornando, cada vez mais, a situação da Inglaterra moderna. Cada um fala de opinião pública, e isso significa a opinião do público subtraída a opinião da própria pessoa. Cada um dá uma contribuição negativa segundo a impressão errônea de que a contribuição do próximo será positiva. Cada um submete os próprios caprichos a um tom geral que é, em si, uma sujeição. E acima de toda a unidade cruel e insensata está disseminada a nova imprensa enfadonha e desenxabida, incapaz de inventar, incapaz de ousar, capaz apenas de uma subserviência muito mais desprezível, pois não é nem mesmo uma subserviência ao forte. No entanto, tudo o que começar com força e conquista terminará dessa forma.
A principal característica do “Novo Jornalismo” é simplesmente ser mau jornalismo. Incomparavelmente, é a obra mais disforme, mais descuidada e a mais sem graça já concebida em nossos dias.
Ontem, li uma frase que deveria ser escrita em áureas letras adamantinas. É o verdadeiro lema da nova filosofia do Império. Eu a encontrei (como o leitor impaciente já deve ter adivinhado) na Pearson’s Magazine, enquanto estava comungando (de alma para alma) com o Sr C. Arthur Pearson, cujo primeiro nome abreviado temo que seja Chilperico.176 O trecho apareceu num artigo sobre a eleição presidencial norte-americana. Eis a frase, e todos deverão lê-la com esmero, saboreando até que todo o mel seja degustado.
O bom e velho senso comum dá mais resultados numa assembléia de trabalhadores norte-americanos do que muitos argumentos elaborados. Um orador que, enquanto apresentava seus argumentos, batia pregos num pedaço de madeira ganhou centenas de votos para seu partido na última eleição presidencial.
Não quero manchar tal perfeição com comentários. As palavras de Mercúrio177 são rudes depois das canções de Apolo.178 Mas, pensemos só por um instante a respeito da mente, a estranha e inescrutável mente do homem que as escreveu, do editor que as aprovou, e das pessoas que ficaram impressionadas com o que foi dito a respeito do incrível trabalhador norte-americano que, pelo que sei, pode ser verdade. Imaginemos qual deva ser a noção de “senso comum” deles! É delicioso perceber que eu ou você, agora, somos capazes de ganhar milhares de votos, caso participemos de alguma eleição presidencial, fazendo coisas do tipo. Suponho que os pregos e a placa de madeira não sejam essenciais para a explicação do “senso comum”; pode haver variações. Podemos ler:
“Um pouco de senso comum dá mais resultados numa assembléia de trabalhadores norte-americanos do que muitos argumentos elaborados. Um orador que, enquanto apresentava seus argumentos, arrancava os botões do colete, ganhou centenas de votos para seu partido na última eleição presidencial”. Ou: “O velho senso comum diz mais a respeito da América do Norte do que argumentos elaborados. Assim, o senador Budge,179 que jogava sua dentadura para o alto a cada zombaria que fazia, obteve ampla aprovação dos trabalhadores norte-americanos”. Ou mesmo: “O velho senso comum de um cidadão de Earlswood,180 que enfiava canudinhos no cabelo enquanto discursava, assegurou a vitória do Sr Roosevelt”.181
Há muitos outros elementos no artigo sobre os quais adoraria me deter. Mas a questão que desejo destacar é que a frase revela perfeitamente a verdade do que nossos “chamberlainetes”, enérgicos e frenéticos construtores de impérios, homens fortes e taciturnos, realmente pretendem dizer ao citar o “senso comum”. Tencionam bater, com barulho ensurdecedor e efeitos dramáticos, insignificantes pregos em inúteis pedaços de madeira.
Um cidadão sobe num palanque norte-americano e se comporta como um charlatão astucioso e estúpido com um martelo e um pedaço de madeira; bem, não culpo tal pessoa; posso até admirá-la. Pode ser um estrategista enérgico e muito honesto. Pode ser um bom ator romântico, como Burke arremessando um punhal no chão.182 Pode até (pelo que sei) ser um místico magnífico, profundamente comovido pelo antigo significado do ofício divino de carpinteiro, e oferecer ao público uma parábola sob a forma de cerimônia. Tudo que desejo mostrar é o abismo de confusão mental em que tal ritualismo desvairado pode ser considerado “senso comum”. E é nesse abismo de confusão mental, e somente nele, que vive, se move e existe o novo imperialismo. Toda a glória e grandeza do Sr Chamberlain183 consiste nisto: bater no prego certo, não importa onde bate, nem o que isso acarreta. Preocupam-se com o barulho do martelo, não com o silencioso afundar do prego na madeira. Antes e durante a guerra africana,184 o Sr Chamberlain esteve sempre pregando pregos, com uma determinação vibrante. Mas ao perguntarmos: “Mas, o que tais pregos unem? Onde está o seu serviço de carpintaria? Onde estão os forasteiros satisfeitos? Onde está a sua África do Sul livre? Onde está o prestígio britânico? O que os seus pregos fizeram?” Então, qual é a resposta? Devemos nos voltar (com um suspiro afetuoso) ao nosso Pearson para responder à questão sobre o que os pregos fizeram: “O orador que batia pregos num pedaço de madeira ganhou centenas de votos”.
Ora, toda essa passagem é admiravelmente característica do novo jornalismo que o Sr Pearson representa, o novo jornalismo que acabou de comprar o Standard.185 Para dar apenas um de centenas de exemplos, o incomparável homem de pregos e tábuas é descrito no artigo do Sr Pearson vociferando (à medida que batia no prego simbólico): “Mentira número 1. Presa ao mastro! Presa ao mastro!”. Em toda a redação, aparentemente, não havia sequer um compositor tipográfico ou auxiliar de escritório que chamasse atenção para o fato de que falamos de mentiras que estão sendo presas na almeida186 do navio, não no mastro.187 Ninguém na redação via que a publicação do Sr Pearson estava se tornando ridícula, incongruente, ilógica e ultrapassada, tão antiga quanto São Patrício.188 Essa é, em essência, a verdadeira tragédia da venda do Standard. Não é somente o caso do jornalismo ter ganhado se comparado à literatura. O caso é que o mau jornalismo ganhou do bom jornalismo.
Não é o caso de um artigo caro e bonito estar sendo substituído por outro que cremos ser comum e feio. É o caso de um mesmo artigo, de pior qualidade, estar sendo preferido ao melhor. Se o leitor gosta de jornalismo popular (assim como eu), perceberá que a Pearson’s Magazine é de um jornalismo medíocre e simplório. O leitor perceberá isso da mesma forma como percebe que uma manteiga é ruim. Perceberá que é mau jornalismo da mesma forma que reconhece que a Strand Magazine,189 nos velhos tempos de Sherlock Holmes, era bom jornalismo popular. O Sr Pearson é um monumento a essa enorme banalidade. Em tudo o que diz e faz há algo infinitamente simplório. Reclama por negócios nacionais e faz negócios internacionais para imprimir seu jornal. Quando tal fato flagrante é lembrado, não diz ser um lapso, como um homem sadio. Interrompe num corte, como uma criança de três anos que usasse tesouras. A própria sagacidade do referido senhor é infantil. E, como uma criança de três anos de idade, não termina muito bem. Em toda a história humana, duvido que exista um único exemplar com tamanha e profunda simplicidade no enganar. Este é o tipo de inteligência que agora ocupa o lugar do sensato, ilustre e velho jornalismo Tory.190 Caso tivesse realmente sido o triunfo da exuberância tropical da imprensa ianque, seria vulgar, mas ainda assim, tropical. Todavia não é. Estamos sendo lançados ao espinheiro, e da mais desprezível das sarças vem o fogo sobre os cedros do Líbano.
A única questão agora é quanto tempo mais durará a ficção de que jornalistas desse tipo representam a opinião pública. Podemos duvidar se algum importante e honesto reformador das tarifas191 venha dizer, por um momento sequer, que não havia maioria que apoiasse a Reforma Tarifária comparável ao dinheiro que grotesca hegemonia do assunto deu aos grandes diários nacionais. A única inferência é que, para os propósitos da verdadeira opinião pública, a imprensa é, agora, uma mera oligarquia plutocrática. É certo que o público compra a mercadoria desses homens, por uma razão ou outra. Mas não há motivo para supor que o público admire a política deles mais do que admira a delicada filosofia do Sr Crosse ou o obscuro e rígido credo do Sr Blackwell.192 Se tais homens são meros comerciantes, nada tenho a dizer, a não ser que há vários do mesmo tipo em Battersea Park Road,193 e muitos que são bem melhores. No entanto, caso tentem se tornar políticos, podemos apenas alertá-los de que ainda não são nem mesmo bons jornalistas.
167 No original, yellow press [literalmente, imprensa amarela], cujo equivalente no Brasil e em Portugal é “imprensa marrom”. Tal expressão designa aqueles órgãos de imprensa tidos como sensacionalistas e que buscam alta audiência e vendagem por meio da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos.
168 Alfred Charles William Harmsworth, 1° Visconde de Northcliffe (1865–1922), foi um magnata do jornalismo inglês. De origem humilde, ficou milionário e ganhou o título nobiliárquico por lançar, em 1896, o jornal Daily Mail, que custava somente meio penny e pretendia trazer todas as notícias no menor espaço possível.
169 Cyril Arthur Pearson (1866–1921) fundou na década de 1890 o Pearson’s Weekly. Quatro anos após o surgimento do Daily Mail, lançou, pelo mesmo preço, um concorrente chamado Daily Express.
170 Em julho de 1900, o jornal Daily Express noticiou que delegações estrangeiras enviadas a Pequim estavam sendo aniquiladas e cremadas num processo de execução pública pelos rebeldes chineses desde o mês de junho. Tais notícias foram “confirmadas” pelo correspondente do Daily Mail em Xangai e reproduzidas pelo jornal novaiorquino Times. O alvoroço foi tamanho que chegou a ser agendada uma cerimônia em memória aos mortos, em julho daquele ano, na Catedral de St Paul, em Londres. Uma vez provada a falsidade da fonte de Xangai e a inexistência de qualquer massacre, o evento foi cancelado.
171 Chesterton se refere ao ocorrido na China nos anos de 1899 a 1901, conhecido como Levante ou Guerra dos Boxers. Na verdade, foi um movimento antiocidental e anticristão que se opunha à expansão estrangeira iniciada no final do século XIX e à corte Manchu. Os rebeldes acreditavam que seria possível treinar seus guerreiros no ritual do boxe chinês para vencer as armas de fogo estrangeiras, daí serem denominados boxers. O levante terminou com a assinatura do Protocolo de Pequim em setembro de 1901, com indenizações previstas para oito nações.
172 William Cowper (1731–1800), poeta inglês, compositor de hinos religiosos e um dos precursores da poesia romântica.
173 A obra, de 1782, é composta de versos fictícios que teriam sido escritos por Alexander Selkirk (1676–1721) nos quatro anos em que viveu sozinho numa ilha deserta, após um naufrágio. A história de Selkirk inspirou, entre outras obras literárias, o famoso romance Robinson Crusoe, em 1719. Em inglês o trecho citado por Chesterton corresponde ao verso 16: “their tameness is shocking to me”.
174 Robert Peel Glanville Blatchford (1851–1943) foi um jornalista, promotor das idéias socialistas e membro da sociedade fabiana. Defendia a eugenia e o ateísmo e, em 1891, fundou o jornal Clarion. Chesterton combateu tais idéias durante uns dois anos, numa série de artigos polêmicos publicados no próprio Clarion, em 1904, reunidos na obra que, hoje, chamamos The Blatchford Controversies.
175 Chesterton está fazendo referência a um livro publicado nos Estados Unidos, em 1899, chamado: The Bi-Lateral Cypher of Sir Francis Bacon Discovered in His Works and Deciphered By Mrs. Elizabeth Wells Gallup. Elizabeth Wells Gallup (1848–1934), educadora americana que discorreu sobre o método de esteganografia (ocultação de mensagens nos textos) desenvolvido por Francis Bacon (1561–1626), foi também uma das expoentes da teoria da autoria baconiana das obras de Shakespeare (1564–1616) e aplicou o método das mensagens cifradas às primeiras obras do bardo.
176 Chesterton usa o nome de dois dos reis dos francos: Chilperico I (539–584), que foi rei da Nêustria de 561 até sua morte; e Chilperico II (670–721), filho mais jovem de Childerico II (653–675), que foi rei da Nêustria a partir de 715 e rei único dos francos de 718 até sua morte. Etimologicamente, o nome significa “poderoso protetor”. No entanto, parece que Chesterton faz uma referência irônica, pois São Gregório de Tours (538–594), na obra A história dos francos, se referia a Chilperico I como “o Nero e o Herodes de sua época”. Como já vimos o “C” do Sr Pearson era a abreviação de Cyril.
177 Na mitologia romana, Mercúrio (associado ao deus grego Hermes) era o mensageiro dos deuses e deus dos negócios, do lucro e do comércio.
178 Uma das principais divindades greco-romanas. Era o deus da beleza, da perfeição, da harmonia e da razão.
179 A escolha do nome do senador fictício não foi fortuita, pois budge em inglês significa “pele de cordeiro”.
180 Referência à cidade de Earlswood, em Redhill, Surrey, na Inglaterra, onde se localizava, desde 1847, o Royal Earlswood Asylum for Idiots [Real manicômio para doentes de idiotia de Earlswood]. O manicômio foi fechado em 1997.
181 Theodore Roosevelt (1858–1919), 26º Presidente dos Estados Unidos da América que governou de 1901–1909.
182 Edmund Burke (1729–1796) foi ferrenho opositor da Revolução Francesa. Num debate na Câmara dos Comuns, em 28 de dezembro de 1792, após mencionar uma ordem para a feitura, em Birmingham, de três mil punhais, bruscamente, sacou um punhal e o lançou ao chão, dizendo, “Isto é o que se ganha por fazer aliança com a França”.
183 Referência a Joseph Chamberlain (1836–1914), na ocasião, líder da oposição ao governo e ex-Secretário de Estado para as colônias.
184 Referência às guerras dos bôeres, dois confrontos armados na região da atual África do Sul entre colonos de origem holandesa e francesa (bôeres) e o exército britânico que pretendia dominar as jazidas de ouro e diamante da região. O primeiro confronto ocorreu entre 1880 e 1881 e o segundo, ao qual Chesterton se refere nesta passagem, entre os anos de 1899–1902.
185 Lançado em 1827, o jornal passou a ter duas versões, a matutina, chamada Standard, e a vespertina, denominada Evening Standard, em 1859, e o periódico ficou famoso por dar uma cobertura detalhada do noticiário internacional. Em 1904, C.A. Pearson comprou os dois jornais mudando a linha editorial e a tendência conservadora para mais liberal. A estratégia não foi bem-sucedida e fez cair a vendagem.
186 Parte curva do costado do navio, localizada na popa, logo abaixo do painel, formando com este uma curvatura ou ângulo obtuso.
187 Chesterton faz um jogo de palavras com a expressão “Nail colours to the mast”, que significa expressar publicamente a opinião a respeito de alguma coisa.
188 Chesterton utiliza a expressão irish bull [literalmente, touro irlandês] (declaração ridícula, incongruente ou logicamente absurda, que muitas vezes não é tida como tal por quem a profere), daí a menção a São Patrício (386–493), padroeiro da Irlanda.
189 Fundada em 1890 por Sir George Newnes (1851–1910). Inicialmente publicava temas atuais e contos seriados de ficção, escritos por autores, hoje mundialmente famosos, como Graham Greene (1904–1991), Agatha Christie (1890–1976), Rudyard Kipling (1865–1936), G.K. Chesterton (1874–1936), Liev Tolstói (1828–1910), Georges Simenon (1903–1989) e Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930), este último considerado o mais importante autor da história da revista, pois foi nela que lançou a personagem Sherlock Holmes.
190 Nome do antigo partido de tendência conservadora do Reino Unido, que reunia a aristocracia britânica e se opunha ao partido liberal, chamado Whig.
191 Referência irônica ao próprio C.A. Pearson, que por apoiar as políticas de Joseph Chamberlain (1836–1914), ocupou a presidência da Liga de Reforma Tarifária em 1903, um grupo de pressão formado para proteger a indústria britânica das importações.
192 Crosse & Blackwell é uma antiga indústria alimentícia (fundada em 1706 sob outra denominação). A empresa foi comprada, em 1829, por Edmund Crosse (1804–1862) e Thomas Blackwell (1804–1879), antigos funcionários da firma que, posteriormente, se tornaram grandes industriais ingleses. A marca existe até os dias de hoje e possui uma ampla gama de gêneros alimentícios, em especial conservas, molhos e condimentos.
193 Avenida comercial no distrito de Battersea em Londres. Vale notar que Chesterton, na época em que escreveu o presente livro, vivia nessa região.
CAPÍTULO IX
A impertinência do
Sr George Moore
O SR GEORGE MOORE começou a carreira literária escrevendo confissões pessoais; não há nenhum mal nisso, caso não tivesse continuado por toda a vida. Ele é um homem de idéias genuinamente vigorosas, com grande domínio de um tipo de persuasão retórica e fugaz que tanto provoca quanto agrada. Está num permanente estado de honestidade temporária. Reverenciou todos os maravilhosos excêntricos modernos até que não agüentassem mais. Tudo o que escreve, é realmente necessário admitir, tem um autêntico vigor mental. O relato dos motivos que o levaram a deixar a Igreja Católica Romana talvez seja o mais admirável tributo a tal comunidade religiosa escrito nos últimos anos. Fato é que a fraqueza que tornou estéreis as muitas habilidades do Sr Moore, na verdade, é a mesma que o melhor da Igreja Católica Romana combate. O Sr Moore odeia o catolicismo por quebrar a casa de espelhos em que vive. Não desagrada muito ao Sr Moore ser levado a crer na existência espiritual dos milagres ou dos sacramentos; mas, em essência, desagrada-lhe ser levado a crer na existência real de outras pessoas. Como o mestre Pater e demais estetas,194 a verdadeira desavença com a vida é por ela não ser um sonho que possa ser moldado pelo sonhador. Não é o dogma da realidade do outro mundo que o aborrece, mas o dogma da realidade deste mundo.
A verdade é que a tradição do cristianismo (que ainda é a única ética coerente da Europa) se apóia em dois ou três paradoxos ou mistérios que podem ser facilmente refutados por argumentos e, com igual facilidade, podem ser justificados pela vida. Um deles, por exemplo, é o paradoxo da esperança ou fé: quanto mais desesperadora é a situação, mais esperançoso deve ser o homem. Stevenson195 entendeu isso e, conseqüentemente, o Sr Moore não consegue entender Stevenson. Outro é o paradoxo da caridade ou do cavalheirismo: quanto mais indefesa é determinada coisa, tanto mais deveria nos parecer merecedora de algum tipo de defesa. Thackeray196 entendeu isso e, portanto, o Sr Moore não entende Thackeray. Ora, um dos mistérios práticos e funcionais da tradição cristã, e que a Igreja Católica Romana, como sempre digo, faz excelente trabalho ao recordar, é a idéia da pecaminosidade do orgulho. O orgulho é uma fraqueza de caráter. Seca a alegria, faz murchar a admiração, torna árido o cavalheirismo e a energia. A tradição cristã compreende isso e, portanto, o Sr Moore não entende a tradição cristã.
Pois a verdade é ainda muito mais estranha do que parece na doutrina formal do pecado do orgulho. Não só é verdade que a humildade é uma coisa muito mais sábia e potente que o orgulho, como também é verdade que a vaidade é uma coisa muito mais sábia e potente que o orgulho. A vaidade é social: é quase uma espécie de companheirismo; o orgulho é solitário e incivilizado. A vaidade é ativa; deseja o aplauso das grandes massas. O orgulho é passivo, desejando apenas o aplauso de uma pessoa, e que já o possui. A vaidade é bem-humorada e consegue apreciar um chiste, ainda que tenha sido sobre ela mesma; o orgulho é tedioso, e não consegue nem mesmo sorrir. Esta é toda a diferença que existe entre Stevenson e o Sr George Moore, que, como informa, “varreu Stevenson do cenário”.197 Não sei para onde ele foi varrido mas, para onde quer que tenha ido, creio que está se divertindo, porque teve a sabedoria de ser vaidoso, e não orgulhoso. Stevenson tinha uma vaidade pomposa; o Sr Moore tem um egoísmo pomposo. Por isso, Stevenson podia se divertir, bem como nos divertir, com sua vaidade; ao passo que os mais ricos efeitos do absurdo do Sr Moore são desconhecidos aos próprios olhos.
Caso comparemos esta insensatez solene e os ditosos disparates com que Stevenson enaltecia os próprios livros e censurava os próprios críticos, não será difícil supor por que Stevenson, ao menos, encontrou um tipo de filosofia última para viver, enquanto o Sr Moore está sempre vagando pelo mundo à cata de uma. Stevenson descobrira que o segredo da vida repousa no riso e na humildade. O ego é uma górgona.198 A vaidade a vê pelo espelho de outros homens e continua viva. O orgulho a vê diretamente e se transforma em pedra.
É necessário discorrer um pouco mais a respeito do defeito do Sr Moore, porque é realmente uma fraqueza da obra que não deixa de ter força. O egoísmo do Sr Moore não é mera fraqueza moral, é igualmente uma fraqueza estética constante e influente. Por certo estaríamos muito mais interessados no Sr Moore se ele não estivesse tão interessado em si mesmo. Sentimo-nos como se, conduzidos a uma galeria de belas pinturas, em cada uma delas, por alguma convenção inútil e contraditória, o artista representara a mesma figura na mesma pose. “O Grande Canal com uma vista distante do Sr Moore”, “O Sr Moore em meio à bruma escocesa”, “O Sr Moore próximo ao pé da lareira”, “As ruínas do Sr Moore à luz do luar”, e assim por diante, no que pareceria ser uma seqüência interminável. Sem dúvida, retorquiria que num livro desse tipo ele planejara se revelar.199 Contudo, a resposta é que um livro como este não teria sucesso. Um dos milhares de óbices ao pecado do orgulho é precisamente o seguinte: a consciência da necessidade destrói a auto-revelação. Um homem que presume ser muito importante tentará ser multiforme, buscará uma excelência aparatosa em todos os pormenores, tentará ser uma enciclopédia de cultura, e sua verdadeira personalidade será perdida num falso universalismo. Pensar ser muito importante o levará a tentar ser o universo; a tentativa de ser o universo o levará a deixar de ser. Se, por outro lado, um homem for sensível o bastante para pensar sobre o universo, ele o pensará em termos individuais. Manterá intocado o segredo de Deus; verá a grama como nenhum outro homem conseguirá vê-la, e olhará para o sol como nenhum homem jamais olhou. Tal fato é apresentado, de modo costumeiro, nas Confissões do Sr Moore. Ao lê-las não sentimos a presença de uma personalidade distintiva como a de Thackeray ou a de Matthew Arnold. Apenas lemos diversas opiniões muito perspicazes e conflitantes que poderiam ser apresentadas por qualquer pessoa inteligente, mas que evocam a nossa admiração, especificamente, porque são proferidas pelo Sr Moore. Ele é o único filamento que liga catolicismo e protestantismo, realismo e misticismo – ele, ou melhor, seu nome. Está profundamente entusiasmado até por opiniões que não mais sustenta, e espera que estejamos. Introduz um “Eu” com maiúscula, mesmo onde não há necessidade – ainda em lugares onde esse “Eu” reduz a força da afirmação óbvia. Em vez de dizer: “Hoje o dia está belo”, o Sr Moore diz: “Visto pelo meu estado de espírito, o dia parece belo”. Em lugar de dizer, como qualquer pessoa: “Evidentemente, Milton tem um estilo elegante”, o Sr Moore diria: “Como cultor do estilo, Milton sempre me comoveu”. O merecido castigo desse espírito egocêntrico é ser totalmente ineficaz. O Sr Moore já deu início a muitas cruzadas interessantes, mas as abandonou antes que os discípulos principiassem. Até quando está do lado da verdade, o Sr Moore é tão inconstante quanto os filhos da falsidade. Mesmo quando encontra a realidade, não consegue encontrar descanso. Há uma qualidade irlandesa que nunca poderia faltar a nenhum irlandês: a belicosidade. Por certo, é uma grande virtude, especialmente em nossos dias. Todavia, o Sr Moore não tem a tenacidade de convicção que acompanha o espírito lutador de um homem como Bernard Shaw. A falta de introspecção e o egoísmo não conseguem fazer com que deixe de lutar; mas sempre o impedirão de triunfar.
194 Sobre Walter Pater (1839–1894), ver capítulo VII e sobre a crítica de Chesterton aos estetas, ver capítulo VI.
195 Chesterton admirava muito Robert Louis Stevenson (1850–1894), tanto que, posteriormente, na obra The Victorian Age in Literature (1913), disse a seu respeito: “[Stevenson] parecia escolher a palavra exata com a ponta da caneta, como quem joga ‘pega varetas’” e em 1927 escreveu-lhe a biografia.
196 William Makepeace Thackeray (1811–1863) foi um romancista e ensaísta inglês, famoso por obras como Vanity Fair (1848), em que retrata de forma satírica a sociedade vitoriana.
197 O trecho, na verdade, é uma pergunta e está no prefácio da obra Confessions of a Young Man (1888), e diz: “Os que varri do cenário, onde estão? Stevenson [...] virou um nada”. Moore ainda critica Stevenson por desperdiçar o talento na “graça do estilo”, e diz: “Digo, francamente, que o Sr R.L. Stevenson nunca escreveu uma linha que deixasse de me agradar; mas ele nunca escreveu um livro”.
198 Na mitologia grega, as górgonas eram mulheres monstruosas, com dentes enormes, garras de bronze e cabelos de serpente. Eram três irmãs – Medusa, Euríale e Esteno – que tinham o poder de metamorfosear em pedra quem, diretamente, as olhasse. Medusa, a única das górgonas que era mortal, foi decapitada por Perseu que pôde vê-la pela imagem refletida no escudo espelhado.
199 No caso, Chesterton refere-se à já citada obra Confessions of a Young Man (1888).
CAPÍTULO X
Sobre sandálias e simplicidade
A GRANDE DESVENTURA dos ingleses de hoje não é, absolutamente, ser mais presunçosos que outros povos (e não o sã); é ser mais presunçosos em determinadas coisas de que ninguém pode se vangloriar sem as perder. Um francês pode se orgulhar de ser destemido e lógico, não obstante continuar a ser destemido e lógico. Um alemão pode se orgulhar de ser ponderado e metódico, entretanto permanecer ponderado e metódico. Mas um inglês não pode se orgulhar de ser simples e direto, e todavia continuar a ser simples e direto. Em matéria de estranhas virtudes, conhecê-las é o mesmo que liquidá-las. Alguém pode estar consciente de ser heróico ou divino, mas não pode (em que pesem todos os poetas anglo-saxões) estar consciente da própria inconsciência.
Ora, não creio, honestamente, que possamos negar que uma parcela de tal impossibilidade recaia sobre uma classe muito diferente, segundo a opinião dela mesma, da escola do anglo-saxonismo.200 Falo da escola da vida simples, comumente associada a Tolstói.201 Se o falar ininterrupto sobre a própria robustez leva a pessoa a ter menos vigor, é ainda mais verdadeiro que o falar ininterrupto sobre a simplicidade acaba por tornar a pessoa menos simples. Uma grande queixa, creio, deve ser feita contra os modernos defensores da vida simples – a vida simples nas diversas formas, do vegetarianismo à nobre consistência dos Doukhobors.202 Esta denúncia contra tais paladinos tem por base o fato de que nos tornariam simples nas coisas que não são importantes, mas complexos nas importantes. Far-nos-iam ser simples em coisas insignificantes – ou seja, na dieta, no vestuário, na etiqueta, no sistema econômico. Todavia, nos tornariam complexos em coisas importantes – em Filosofia, na lealdade, na aceitação espiritual e na rejeição espiritual. Não importa muito se um homem come um tomate assado ou um tomate cru; importa muito se come um simples tomate com a cabeça assada. A única espécie de simplicidade que vale a pena preservar é a simplicidade do coração, a simplicidade que consente e se alegra. Pode haver razoável dúvida sobre qual sistema a preserva; certamente não há dúvida de que o sistema da simplicidade a destrói. Há mais simplicidade no homem que come caviar por impulso do que no homem que come Grape-nuts203 por princípio. O principal erro dessas pessoas pode ser encontrado na própria expressão que lhes é mais cara – “vida simples e nobres pensamentos”.204 Não precisam e não se aprimorarão por viver de maneira simples e pensar de maneira sofisticada. Precisam do oposto. Melhorariam caso vivessem com sofisticação e pensassem de maneira simples. Um pouco de sofisticação (digo, ter total senso de responsabilidade, o padrão um pouco elevado) lhes ensinaria a força e o significado das celebrações humanas, do banquete que se repete desde o início dos tempos. Ensinar-lhes-ia o fato histórico de que o artificial é, se é alguma coisa, mais antigo que o natural. Ensinar-lhes-ia que a taça nupcial205 é tão antiga quanto qualquer fome. Ensinar-lhes-ia que o ritualismo é mais antigo que qualquer religião. E um pouco de pensamento simples ensinar-lhes-ia quão grosseira e fantasiosa é toda a ética deles, quão altamente civilizado e complicado deve ser o cérebro de um seguidor de Tolstói que realmente acredita ser ruim amar o próprio país e ser pernicioso dar uma bofetada em alguém.
Um homem se aproxima, usando sandálias e trajes simples, segurando firmemente um tomate cru na mão direita e diz: “Tanto o afeto pela família como a afeição pelo país são obstáculos ao pleno desenvolvimento do amor humano”; porém, o pensador simples apenas o responderá, com espanto e admiração: “Quantos problemas você não deve ter tido para pensar assim!”. A vida sofisticada rejeitará o tomate. O pensamento simples igualmente rejeitará, de forma decisiva, a idéia da invariável pecaminosidade da guerra. A vida sofisticada nos convencerá de que nada é mais materialista que desprezar o prazer por ser uma coisa puramente material. E o pensamento simples nos convencerá de que nada é mais materialista que guardar nosso horror principalmente para as ofensas materiais.
A única simplicidade que importa é a simplicidade de coração. Caso seja perdida, não poderá ser recuperada com nabos e roupas de malha que permitam a transpiração,206 mas somente com lágrimas, terror e o fogo inextinguível. Caso permaneça, pouco importa se umas poltronas do início da era vitoriana também continuem conosco. Apresentemos uma complexa entrée a um simples cavalheiro idoso; não apresentemos uma simples entrée a um sofisticado cavalheiro idoso. Enquanto a sociedade humana deixar minha vida espiritual sossegada, permitirei, com relativa submissão, que exerça seus desejos imoderados no interior de meu corpo físico. Submeter-me-ei aos charutos. Pacificamente aceitarei uma garrafa de Burgundy. Humilhar-me-ei ao tomar o coche, se esses são os únicos meios que tenha para preservar a pureza de espírito, pureza que se deleita com perplexidade e medo. Não digo que estes sejam os únicos métodos de preservá-la. Estou propenso a acreditar que há outros. Mas não terei nada o que fazer com uma simplicidade sem medo, perplexidade, bem como alegria. Não terei nada o que fazer com a visão demoníaca de uma criança simplória o bastante para não gostar de brinquedos.
A criança é, de fato, neste e em muitos outros assuntos, o melhor guia. Não há nada em que a criança seja propriamente tão infantil, nada em que demonstre com precisão a saudável ordem da simplicidade, como no fato de ver tudo com um prazer simples, até mesmo as coisas complexas. O falso tipo de naturalidade sempre enfatiza a distinção entre o natural e o artificial. O tipo sofisticado de naturalidade ignora tal distinção. Para a criança uma árvore é tão natural, ou artificial, quanto um poste de luz; ou melhor, nenhum dos dois é natural, ambos são sobrenaturais. Pois ambos são esplêndidos e inexplicáveis. A flor com que Deus coroa a primeira, e a chama com que Sam, o acendedor de lampiões, coroa a outra, são igualmente feitas do ouro dos contos de fada. Em meio às mais remotas paragens, a criança mais rústica está, aposto, brincando com marias-fumaça. E a única objeção filosófica ou espiritual a marias-fumaça não é que as pessoas paguem por elas, ou que nelas trabalhem, ou que as construam muito feias ou até mesmo que sejam mortas por elas; mas simplesmente que os homens não brincam com elas. O mal é que não restou a poesia infantil da locomotiva de brinquedo. O errado não é que as máquinas sejam admiradas demais, mas que não sejam admiradas o bastante. O pecado não é que as máquinas sejam mecânicas, mas que os homens sejam mecânicos.
Então, sobre esse assunto, como em todas as outras questões tratadas neste livro, nossa principal conclusão é que o necessário é um ponto de vista fundamental, uma filosofia ou religião, e não alguma mudança de hábito ou rotina social. As coisas de que mais precisamos para imediatos propósitos práticos são, em sua totalidade, abstrações. Precisamos de uma visão correta do destino do homem, uma justa visão da sociedade humana; e caso estivéssemos vivendo ansiosa e ferozmente no furor por tais coisas, estaríamos, ipso facto, vivendo, simplesmente, no sentido verdadeiro e espiritual. Desejo e perigo tornam qualquer pessoa simples. E para os que nos falam, com interposta eloqüência, sobre Jäger e os poros da pele,207 e sobre Plasmon e as membranas do estômago,208 devemos lançar-lhes as palavras que foram violentamente proferidas aos dândis e glutões:
Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber; e não andeis com vãs preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas estas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo.209
Estas impressionantes palavras não são apenas lições excepcionalmente boas de política prática; também são, e superlativamente, boa higiene. A única e última forma de fazer todos os processos darem certo, os processos da saúde, força, graça e beleza, a primeira e única forma de estarmos certos a respeito da exatidão deles, é pensar sobre algo mais. Caso alguém esteja inclinado a subir ao Sétimo Céu, deve estar confortável com os poros da pele. Caso alguém decida arrear sua charrete a uma estrela, o processo terá um efeito bastante satisfatório nas membranas de seu estômago. Pois o chamado “levar em conta”, cuja melhor palavra para o descrever atualmente é “racionalizar” é, por natureza, inaplicável a todas as coisas simples e urgentes. Os homens consideram e ponderam de forma racional quando tratam de coisas remotas – coisas que importam somente na teoria, tal como o trânsito de Vênus. Mas somente quando põem tais coisas em risco, racionalizam sobre algo tão prático quanto a saúde.
200 Na verdade, a corrente do anglo-saxonismo se filiava ao espírito nacionalista do século XIX. Está ligada à idéia de um passado idealizado da raça anglo-saxônica ou teutônica desenvolvida por alguns historiadores e romancistas ingleses. Evocavam um passado racial comum e cultuavam o herói “celta”. A ênfase em “virtudes inatas” desse povo, tais como o pragmatismo e a virilidade, acrescida da crescente atenção às idéias pós-darwinistas e imperialistas, fez com que fossem cultivados sentimentos de superioridade, o que acentuou e justificou o preconceito contra os irlandeses. Sobre a crítica de Chesterton à idéia de raça celta, ver capítulo XIII.
201 O romancista russo Liev Tolstói (1828–1910), no ano de 1876, converteu-se a uma espécie cristã de anarquismo mesclado com pacifismo que propunha um estilo de vida simples e natural. Expôs sua doutrina numa série de obras, tais como Minha religião (1884), e viveu, e morreu, segundo tais crenças, abandonando todos os bens temporais.
202 Seita cristã de origem russa, surgida no século XVIII, cuja doutrina pacificista, anticlericalista e antimilitar não aceitava a autoridade de nenhum Estado. Tolstói (1828–1910), simpatizante da seita, escreveu alguns romances, como Ressurreição (1899), para financiar a imigração dos membros para o Canadá. Existem até os dias de hoje e a maioria vive no Canadá. O próprio Chesterton, no capítulo VII de sua Autobiografia (1936), diz que os doukhobors, “ao chegarem ao Canadá, e ficarem sob a autoridade britânica, estranhamente se desmoralizaram; degeneraram em fanáticos perigosos que roubavam cavalos das carroças e gado dos currais, pois eram contra manter animais em cativeiro”.
203 Marca de cereal matinal criado, em 1897, pelo concorrente do inovador Dr Kellogg, feito a base de trigo e cevada. Embora tenha no nome uva e nozes, não possui tais ingredientes. Na época foi comercializado como um alimento que poderia melhorar a saúde e a vitalidade, além de excelente “alimento para o cérebro”. O produto sofreu modificações em sua composição, porém a marca existe até os dias de hoje.
204 Verso do soneto “Written in London, September, 1802”, de William Wordsworth (1770–1850), cuja estrofe completa seria: “Rapine, avarice, expense / This is idolatry / and these we adore / Plain living and high thinking are no more”.
205 Taça usada pelos noivos, normalmente de prata e com duas alças, para partilhar a bebida. Podem ser usadas como troféus e existem em muitas culturas européias, como nos antigos celtas e nos modernos franceses.
206 No original, cellular clothing. No final da década de 1800 foi desenvolvido um novo conceito de vestimenta que criava uma barreira entre o calor do corpo e a temperatura ambiente e, ao mesmo tempo, permitia a regulação térmica do corpo por meio de uma trama mais aberta e porosa. O efeito foi possível ao se utilizar o algodão. O tecido foi batizado de Aertex e, em 1888, surgiu a Cell Clothing Co para sua produção. Já em 1891, grande parte da classe média usava roupas deste tecido, principalmente roupas íntimas e masculinas.
207 Referência à Gustav Jäger (1832–1917), naturalista e higienista alemão que defendeu na obra Die Normalkleidung als Gesundheitsschutz (1880) a confecção de roupas com pêlos de animais e não com materiais vegetais. Afirmava ainda que o uso da lã próxima à pele era um fator promotor de saúde. Seus ensinamentos inspiraram a criação, em 1884, da Dr Jaeger’s Sanitary Woolen System, para a confecção de roupas “sanitárias” de lã. Tais roupas foram responsáveis pelo sofrimento de gerações de crianças que sofriam de coceiras na pele, causadas por roupas íntimas feitas de lã.
208 O Plasmon era um “alimento a base de proteína de leite, altamente concentrado, de albumina natural digerível e solúvel, substituto da carne”. Era comercializado em pó, e podia ser acrescentado ao chá, ao achocolatado, à aveia, etc. A propaganda da época dizia ser “o alimento perfeito”, pois “continha todos os nutrientes necessários à vida”.
209 Lc 12, 29–31.
CAPÍTULO XI
A ciência e os selvagens
UMA DESVANTAGEM permanente do estudo do folclore210 e de assuntos correlatos é que o homem de ciência dificilmente consegue chegar à natureza das coisas, pois muitas vezes é um homem do mundo. O homem de ciência é um estudioso da natureza; quase nunca um estudioso da natureza humana. E mesmo onde a dificuldade está superada ele é, num certo sentido, um estudioso da natureza humana – e este é apenas um começo modesto no doloroso progresso rumo a se tornar humano. O estudo de raças e religiões primitivas se diferencia num importante aspecto, ou em quase todos os aspectos, dos estudos científicos comuns. Um homem compreende a astronomia apenas por ser astrônomo; sabe entomologia apenas por ser entomologista (ou, talvez, inseto); mas entende boa parte da antropologia meramente por ser homem. Ele é o próprio animal que estuda. Nesse momento surge o fato que salta aos olhos nos registros da etnologia e do folclore – o fato de que o mesmo espírito frio e distante que leva ao sucesso no estudo da astronomia ou da botânica conduz ao desastre no estudo da mitologia ou das origens do homem. É necessário deixar de ser homem para fazer justiça a um micróbio; não é necessário deixar de ser homem para fazer justiça ao homem. A mesma supressão de compaixão, o mesmo afastamento de intuições e suposições que torna um homem sobrenaturalmente inteligente quando trata do estômago de uma aranha, fará dele sobrenaturalmente estúpido ao tratar do coração do homem. Desumaniza-se a fim de entender a humanidade. A ignorância sobre o outro mundo é motivo de vanglória de muitos homens de ciência; mas nesse assunto os defeitos surgem, não por desconhecerem o outro mundo, mas pela ignorância deste. Pois os segredos que preocupam os antropólogos podem ser mais bem aprendidos, não em livros ou viagens, mas no intercâmbio comum do homem com outros homens. O motivo secreto que leva uma tribo selvagem a adorar macacos ou a lua não pode ser descoberto, ainda que alguém ande entre tais selvagens e tome notas das respostas num caderno, ainda que o mais inteligente dos homens possa seguir tal caminho. A resposta para o enigma está na Inglaterra; está em Londres; mais ainda, está no próprio coração. Quando alguém descobrir por que os homens na Bond Street usam chapéus pretos, descobrirá, no mesmo instante, por que os homens em Tombuctu usam penas vermelhas. O mistério de uma dança de guerra indígena não deve ser estudado nos livros de viagens científicas; deve ser estudado num baile por subscrição.211 Se alguém deseja descobrir as origens das religiões, não o deixem ir para as Ilhas Sandwich;212 façam-no ir à igreja. Se alguém deseja conhecer a origem da sociedade humana, conhecer o que a sociedade, filosoficamente falando, realmente é, não o deixem ir ao Museu Britânico; façam-no ingressar na sociedade.
Esse total equívoco quanto à real natureza do cerimonial dá origem às versões mais inadequadas e desumanizadoras da conduta dos homens em terras e eras primitivas. Os homens de ciência, não percebendo que o cerimonial é algo, por essência, sem motivo, têm de encontrar um motivo para cada tipo de cerimonial e, como podemos supor, geralmente o motivo é muito absurdo – absurdo porque se origina não na mente simples de um bárbaro, mas na mente sofisticada de um professor. Os eruditos dirão, por exemplo:
Os nativos das terras de Mumbo Jumbo213 acreditam que os mortos se alimentam e precisarão de comida na jornada ao outro mundo. Isso é comprovado pelo fato de colocarem comida nos túmulos, e qualquer família que não cumpra o rito será objeto do ódio dos sacerdotes e da tribo.
Para qualquer pessoa que esteja acostumada com a humanidade, esse modo de falar parece estar de ponta-cabeça. É como dizer:
O inglês do século xx acreditava que os mortos podiam sentir cheiros. Isso é atestado pelo fato de que sempre cobriam os túmulos com violetas, rosas e outras flores. Alguns temores tribais e clericais estavam ligados à negligência desse ato, pois temos registro de que muitas senhoras idosas ficavam muito perturbadas quando suas coroas de flores não chegavam a tempo para o funeral.
É claro que pode ser que os selvagens ponham comida junto ao morto porque acreditam que possa comer, ou coloquem armas junto ao morto porque acreditam que possa lutar. Contudo, pessoalmente, não acredito que pensem em algo desse tipo. Acredito que ponham comida ou armas junto aos mortos pela mesma razão por que colocamos flores, porque é uma coisa extremamente natural e óbvia. Não compreendemos, é verdade, a emoção que nos faz acreditar que isso é óbvio e natural, mas é porque, assim como todas as importantes emoções da existência humana, isso é, em essência, irracional. Não compreendemos o selvagem pela mesma razão que o selvagem não compreende a si mesmo. E o selvagem não se compreende pela mesma razão que nós não nos compreendemos.
A manifesta verdade é que no momento em que qualquer assunto passa pela mente humana, ele está, por fim e para sempre, corrompido para todos os propósitos da ciência. Tornou-se uma coisa irremediavelmente misteriosa e infinita; o mortal assume a imortalidade. Até aquilo que chamamos de desejos materiais são desejos espirituais, porque são humanos. A ciência consegue analisar uma bisteca suína e dizer quanto dela é fósforo e quanto é proteína; mas a ciência não consegue analisar qualquer desejo humano por uma bisteca, e dizer o quanto desse desejo é fome, o quanto é hábito, o quanto é ansiedade e o quanto é um assombroso amor pelo belo. O desejo do homem por uma bisteca permanece literalmente tão místico e etéreo quanto seu desejo pelo Paraíso. Todas as tentativas, portanto, no sentido de uma ciência dos assuntos humanos, de uma ciência da História, de uma ciência do Folclore, de uma ciência da Sociologia, são, pela própria natureza, não só impossíveis como também insanas. Na história da Economia, não podemos estar mais certos de que o desejo de alguém por dinheiro seja simplesmente um desejo por dinheiro mais do que, na hagiologia,214 o desejo do santo por Deus seja apenas um desejo por Deus. E esse tipo de incerteza no fenômeno primário do estudo é um golpe absolutamente final na natureza de uma ciência. Os homens podem elaborar uma ciência com muito poucos instrumentos, ou com instrumentos muito simples; mas ninguém na face da Terra poderia erigir uma ciência com instrumentos não confiáveis. Um homem poderia elaborar toda a Matemática com um punhado de pedrinhas, mas não com um punhado de barro que estivesse esboroando e se fundindo em novas combinações. Um homem pode medir céus e terras com um junco, mas não com um junco que cresça.
Tomemos o caso da transmigração das histórias, e a alegada unidade de fontes, como um dos enormes disparates do folclore. Histórias e mais histórias são recortadas pelos mitólogos científicos e postas lado a lado com histórias similares no museu de fábulas que criaram. O processo é engenhoso, é fascinante, e se apóia totalmente numa das mais simples falácias do mundo. Que uma história tenha sido contada em vários lugares num momento ou noutro não só não prova que nunca aconteceu, como nem de longe indica ou torna sequer mais provável que nunca tenha acontecido. Que um grande número de pescadores falsamente afirmaram que pescaram um lúcio215 de um metro de comprimento não afeta nem um pouco o fato de alguém jamais ter feito tal coisa. Que inúmeros jornalistas anunciem uma guerra franco-prussiana meramente por dinheiro não atesta, nem de uma forma nem de outra, a obscura questão sobre se tal guerra já aconteceu. Sem dúvida, em poucas centenas de anos, as inumeráveis guerras franco-prussianas que não aconteceram terão limpado da mente científica qualquer crença na legendária guerra dos anos 1870, que aconteceu.216 Todavia, isso ocorrerá porque se estudiosos de folclore ainda existirem, sua natureza permanecerá imutável; os serviços que prestarão ao folclore ainda serão como os do presente, maiores do que compreendem. Pois, na verdade, tais homens fazem algo muito mais divino que estudar lendas; eles as criam.
Há dois tipos de histórias que os cientistas dizem não ser verdadeiras porque todos as conhecem. A primeira classe consiste em histórias que são contadas em todo lugar porque são um tanto estranhas ou inteligentes. Não há nada no mundo que impeça que tais histórias tenham ocorrido a uma pessoa como aventura, da mesma forma que não há nada que impeça terem ocorrido, como certamente acontece, como idéia. Mas não parece provável que tenham acontecido a muitas pessoas. A segunda classe de “mitos” consiste em histórias que são contadas em todo lugar pela simples razão de que aconteceram em todo lugar. Da primeira classe, por exemplo, temos a história de Guilherme Tell,217 hoje geralmente contada entre as lendas, pelo simples fato de que é encontrada em histórias de outros povos. Ora, é óbvio que isso foi contado em todo lugar porque, verdadeira ou falsa, ela é o que chamamos de “uma boa história”; é singular, excitante, e possui um clímax. Mas sugerir que tal excêntrico incidente nunca possa ter acontecido em toda a história das artes dos arqueiros, ou que não tenha acontecido com nenhuma pessoa em particular que a tenha contado, isso é uma total imprudência. A idéia de atirar num alvo atado a um bem de valor ou a um ente querido é uma idéia que, sem dúvida, poderia ter facilmente ocorrido a qualquer poeta criativo. No entanto, também é uma idéia que poderia facilmente ocorrer a qualquer arqueiro fanfarrão. Pode ser uma das fantásticas excentricidades de algum contador de histórias. Da mesma forma como pode ser um dos fantásticos caprichos de algum tirano. Pode ocorrer primeiro na vida real e depois nas lendas, ou pode muito bem ocorrer nas lendas e depois na vida real. Caso nenhuma maçã tenha sido derrubada da cabeça de um menino desde o começo do mundo, isso poderá ser feito amanhã de manhã, e por alguém que nunca tenha ouvido falar de Guilherme Tell.
Esse tipo de lenda, por certo, pode muito bem ser comparado a uma piada comum que termine numa réplica engenhosa ou numa contradição. Tal réplica, como a famosa Je ne vois pas la nécessité,218 temos visto atribuída a Talleyrand,219 a Voltaire,220 a Henrique IV,221 a um juiz anônimo e assim por diante. Mas essa variedade não torna, de forma alguma, mais provável que a frase nunca tenha sido dita. É altamente provável que tenha sido realmente dita por um desconhecido. É altamente provável que realmente tenha sido dita por Talleyrand. De qualquer modo, não é mais difícil acreditar que o mote possa ter vindo à mente de alguém ao conversar do que a um homem escrevendo suas memórias. Pode ter acontecido a quaisquer dos homens que mencionei. Todavia, há um ponto de diferença: não é provável que o mote tenha ocorrido a todos. E é aqui que a primeira classe do suposto mito difere da segunda classe a que me referi anteriormente, visto que há uma segunda classe de incidentes comuns à história de cinco ou seis heróis, por exemplo, Sigurd,222 Hércules,223 Rustem,224 Cid225 e outros mais. E a peculiaridade desse mito não é somente ser altamente razoável imaginar que tenha ocorrido a um herói, mas é altamente razoável imaginar que realmente tenha ocorrido a todos. Tal é a história, por exemplo, de um grande homem que teve a força dominada ou impedida pela misteriosa fraqueza de uma mulher. A história anedótica, a história de Guilherme Tell, é, como disse, singular, porque é especial. Mas esse tipo de história, a história de Sansão e Dalila,226 do Rei Arthur e Guinevere,227 obviamente é popular porque não é singular. É popular como a boa e tranqüila ficção é popular, porque diz a verdade a respeito das pessoas. Caso a ruína de Sansão por intermédio de uma mulher e a ruína de Hércules por uma mulher228 tenham uma origem lendária comum, é gratificante saber que também podemos explicar como fábula a ruína de Nelson por intermédio de uma mulher229 e a ruína de Parnell230 por uma mulher. E, de fato, não tenho dúvidas de que, alguns séculos à frente, os estudantes de folclore recusarão a acreditar que Elizabeth Barrett fugiu com Robert Browning,231 e comprovarão totalmente seus pontos de vista pelo inquestionável fato de que toda a ficção do período estava repleta de tais fugas amorosas, do princípio ao fim.
Possivelmente a mais patética de todas as ilusões dos modernos estudiosos das crenças primitivas é a noção que têm sobre o que chamam de antropomorfismo. Acreditam que os homens primitivos atribuíam os fenômenos a um deus em forma de homem a fim de explicá-los, porque o raciocínio de tais seres, por uma triste limitação, não poderia alcançar nada além de suas rudes existências. O trovão era chamado “a voz do homem”, o raio, “os olhos do homem”, porque por tal explicação os fenômenos se tornavam mais razoáveis e confortáveis. A cura terminal para todas essas formas de filosofia está em andar pelas ruas à noite. Qualquer um que faça isso descobrirá, muito rapidamente, que os homens retratavam algo semi-humano por trás de todas as coisas, não porque tal pensamento fosse natural, mas porque era sobrenatural; não porque as fizessem mais compreensíveis, mas porque as tornavam centenas de vezes mais incompreensíveis e misteriosas. Um homem andando pela rua à noite pode perceber o fato evidente de que, enquanto a natureza seguir o próprio curso, ela não tem nenhum poder sobre nós. Enquanto uma árvore for uma árvore, é um desengonçado monstro de centenas de braços, milhares de línguas, e somente uma perna. Enquanto uma árvore for uma árvore, não nos amedronta. Começa a ser alguma coisa alienígena, alguma coisa estranha, somente quando se parece conosco. Quando uma árvore realmente se parece com um homem, nossos joelhos começam a tremer. E quando todo o universo se parece com um homem, prostramo-nos em reverência.
210 Chesterton usa o termo de maneira ampla, abarcando com ele a antropologia, a etnologia, a mitologia, o estudo das religiões. Tal fato pode ser comprovado, por exemplo, pela leitura do capítulo 5 do livro O Homem Eterno [The Everlasting Man] de 1925.
211 Um baile ou uma série de bailes, organizados por comitês, em que os interessados em fazer parte se cotizavam e tinham um determinado número de convites para distribuir. Muitas vezes, bailes desse tipo eram organizados por motivos filantrópicos.
212 Antigo nome do arquipélago do Havaí.
213 Expressão genérica que remete a terras exóticas de rituais tribais antigos e vodu.
214 Estudo da vida dos santos.
215 Espécie de peixe do Hemisfério Norte.
216 Referência à Guerra Franco-Prussiana (1870–1871), cuja vitória dos prussianos marcou o último capítulo da unificação alemã sob o comando de Guilherme I, da Prússia (1797–1888) e a queda de Napoleão III (1808–1873) e da monarquia, na França. Resultou também na anexação prussiana do território da Alsácia-Lorena, que perdurou até a Primeira Guerra Mundial.
217 Herói lendário do início do século XIV, que parece ter vivido no cantão de Uri, na Suíça. O nome de Tell aparece associado à guerra de libertação nacional da Suíça em face do império austríaco dos Habsburgos. O tema aparece em histórias da mitologia nórdica, bem como na Inglaterra e na região de Holstein.
218 A frase surge por conta da seguinte história: Um homem decide pedir dinheiro a Talleyrand, e, não conseguindo, apresenta a derradeira argumentação: “Senhor, é necessário que eu viva”. Diante disso, o ex-bispo de Autun responde: “Não vejo a menor necessidade”. Machado de Assis, no conto “O empréstimo”, na obra Papéis Avulsos (1882), refere-se à mesma passagem.
219 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754–1838) foi um político astuto e hábil diplomata francês. Participou de quase todos os regimes de governo da França de sua época, ganhando a fama de cínico, imoral. Foi uma das personalidades mais controversas da história de seu país.
220 François-Marie Arouet (1694–1778) foi um escritor e filósofo iluminista francês. Ardoroso crítico da Igreja Católica e das instituições sociais de seu tempo, é considerado um dos homens mais influentes do século XVIII. Por ter convivido com várias personalidades, muitas são as histórias atribuídas a ele (ou mesmo inventadas por ele).
221 Henrique IV da França (1553–1610), primeiro rei francês da dinastia dos Bourbons.
222 Trata-se do mesmo herói Siegfried já citado anteriormente. O mito foi apropriado, em língua inglesa, por William Morris (1834–1896), no poema épico The Story of Sirgurd the Volsung and the Fall of the Nibelungs (1876).
223 Nome latino do herói grego Héracles. Os romanos adotaram muitas histórias a respeito do herói, entre elas o mito dos doze trabalhos, acrescentando uns poucos detalhes. O historiador Tácito (55–120) o relaciona aos povos germânicos, que o celebrariam como o primeiro dos heróis.
224 Grande herói da Pérsia que supostamente viveu e lutou por muitos anos e a quem são atribuídas sete aventuras. Na obra Sohrab e Rustum (1853), Matthew Arnold conta como o herói involuntariamente lutou e matou o próprio filho. Vale notar que Arnold grafa o nome da personagem de forma diferente.
225 Referência a Rodrigo (ou Ruy) Díaz de Vivar (1043–1099), também conhecido como El Cid (“O Senhor”) ou Campeador. Sua vida e feitos se tornaram lenda, devido a uma canção de gesta, Canción de Mio Cid, datada de 1207 e transcrita no século XIV.
226 Segundo o relato bíblico, Sansão, que era portador de uma força descomunal, apaixonou-se por Dalila que o traiu, entregando-o aos filisteus após saber o segredo de como o faria para prendê-lo. Ver Jz 16, 4–21.
227 Na verdade a história do rei Arthur e da rainha consorte Guinevere aparece em muitas lendas e relatos e vem relacionada ao caso amoroso com Sir Lancelot. À suposta traição é atribuída a queda do reinado de Arthur.
228 Chesterton está se referindo na verdade ao semideus grego Héracles (muitas vezes confundido com o Hércules romano). Apaixonou-se pela sedutora Iole, e estava disposto a desposá-la, quando recebeu de Dejanira, sua pretendente raptada por Nesso, como presente de núpcias, a túnica ensangüentada que, ao ser raptada, ela jurara iria trazê-lo de volta. Ao vesti-la, o veneno infiltrou-se no corpo de Héracles, louco de dores. Quis arrancá-la, mas o tecido achava-se de tal forma aderido ao corpo que a pele lhe saía aos pedaços. Vendo-se perdido, o herói ateou uma fogueira e lançou-se às chamas. Logo que as línguas de fogo começaram a serpentear no espaço, foi ouvido o trovão. Era Zeus, que arrebatara seu filho para o Olimpo, onde ganhou a imortalidade e, na doce tranqüilidade, recebeu Hebe em casamento.
229 Chesterton faz referência ao envolvimento de Lorde Nelson (1758–1805) com Lady Hamilton (1761–1815).
230 Charles Stewart Parnell (1846–1891), político representante da Irlanda no Parlamento, conhecido como “o rei não coroado da Irlanda”. Em 1890, foi acusado de ter cometido adultério com a Sra O’Shea, esposa de seu melhor amigo, com quem acabou por se casar, após o divórcio dos O’Shea.
231 Robert Browning (1812–1889) e Elizabeth Barret Browning (1806–1861) foram dois grandes poetas da era vitoriana. Casaram-se às escondidas por causa da oposição do pai da noiva.
CAPÍTULO XII
O paganismo e o
Sr Lowes Dickinson
A RESPEITO DO NOVO PAGANISMO (ou neopaganismo), como o pregado de modo exagerado pelo Sr Swinburne ou como aquele delicadamente proclamado por Walter Pater, não há nada de muito grave a considerar, exceto ter sido algo que nos legou incomparáveis exercícios em língua inglesa. O novo paganismo não é mais novo, e nunca, em tempo algum, guardou a menor semelhança com o paganismo. As idéias que plantou na mentalidade popular a respeito de antigas civilizações são por demais extraordinárias. O termo “pagão” é usado, com freqüência, na ficção e na literatura banal como sinônimo de pessoa sem religião, embora o pagão fosse, em geral, alguém que tinha meia dúzia delas. Os pagãos, segundo essa noção, prosseguiam se coroando com flores e dançando em total estado de irresponsabilidade, ao passo que, se houve duas coisas em que a civilização pagã, na melhor das épocas, honestamente acreditou foram certa dignidade e responsabilidade excessivamente rígidas. Os pagãos são descritos, sobretudo, como ébrios e sem lei, quando, na verdade, eram, antes de tudo, sensatos e respeitadores. São louvados como desobedientes, quando tinham uma única grande virtude – a obediência cívica. São invejados e admirados como vergonhosamente felizes, quando tinham um único grande pecado – o desespero.
O Sr Lowes Dickinson,232 o mais fértil e provocativo dos recentes escritores neste e em assuntos similares, é um homem muito sério para ter caído no velho erro da mera anarquia do paganismo. Para fazer confusão com o entusiasmo helênico cujo ideal é o mero desejo e o simples egoísmo, não é necessária muita Filosofia, mas simplesmente um parco conhecimento da língua grega. O Sr Lowes Dickinson sabe muito de Filosofia e também de grego, e seu erro, se houver, não é o do hedonismo grosseiro. Contudo, o contraste que propõe entre o cristianismo e o paganismo em matéria de moral – um contraste que apresenta muito habilmente num artigo intitulado How long halt ye?,233 publicado no Independent Review234 – contém, creio, um erro de tipo mais profundo. Segundo ele, o ideal do paganismo não era, de fato, um mero frenesi de luxúria, liberdade e extravagância, mas era o ideal de uma humanidade integral e satisfeita. Segundo o Sr Dickinson, o ideal do cristianismo era o ideal do ascetismo. Quando digo que acredito que tal idéia esteja totalmente errada em relação à Filosofia e à História, não estou, no momento, falando de nenhuma idealização cristã pessoal ou mesmo de qualquer cristianismo primitivo não corrompido por eventos posteriores. Não estou, como tantos modernos idealistas cristãos, fundamentando minha objeção em certas coisas que Cristo deixou de dizer. Considero o cristianismo histórico com todos os pecados; lanço mão dele como lançaria do jacobinismo, ou do mormonismo, ou de qualquer outro produto humano confuso ou desagradável, e digo que o sentido de sua ação não deveria ser encontrado no ascetismo. O que o diferenciou do paganismo não foi o ascetismo. Digo que a diferença com o mundo moderno não foi o ascetismo. Digo que São Simeão Estilita235 não tinha no ascetismo a principal inspiração. Digo que o principal impulso do cristão não pode ser descrito como ascetismo, mesmo nos ascetas.
Permitam-me que eu comece a esclarecer o assunto. Há um fato óbvio a respeito das relações entre o cristianismo e o paganismo que, de tão simples, fará com que muitos riam, embora seja tão importante que todos os modernos o esqueçam. O fato primário sobre o cristianismo e o paganismo é que um veio após o outro. O Sr Lowes Dickinson fala deles como se fossem ideais paralelos – fala até como se o paganismo tivesse sido o fenômeno mais novo dos dois, e o mais adequado para uma nova era. Sugere que o ideal pagão seja o bem supremo do homem; mas, se é assim, devemos ao menos perguntar, com mais curiosidade do que nos é permitido, por que o homem verdadeiramente encontrou seu bem supremo na face da Terra e sob as estrelas e o jogou fora. É um enigma extraordinário para o qual proponho arriscar uma resposta.
Há apenas uma coisa no mundo moderno que está face a face com o paganismo; há apenas uma coisa no mundo moderno que, nesse sentido, sabe tudo a respeito do paganismo; e tal coisa é o cristianismo. Este fato é realmente o ponto fraco de todo o neopaganismo hedonista do qual tenho falado. Tudo o que verdadeiramente persiste nas danças ou hinos antigos da Europa, tudo o que, honestamente, chegou até nós dos festivais de Febo236 ou Pã,237 deve ser encontrado nos festivais da igreja cristã. Caso alguém deseje segurar o fio da meada que remonta aos mistérios pagãos, seria melhor segurar um festão de flores na Páscoa ou um cordão de lingüiças no Natal. Tudo o mais no mundo moderno é de origem cristã, mesmo o que parece mais anticristão. A Revolução Francesa é de origem cristã. Os jornais são de origem cristã. Os anarquistas são de origem cristã. A Física é de origem cristã. O ataque à cristandade é de origem cristã. Hoje há uma coisa que existe, e apenas uma, que pode ser, justamente, considerada de origem pagã, e esta coisa é o cristianismo.
A diferença verdadeira entre o paganismo e o cristianismo está perfeitamente condensada na diferença entre as virtudes pagãs, ou naturais, e aquelas três virtudes do cristianismo que a Igreja de Roma chama de virtudes teologais. As virtudes pagãs ou racionais são justiça e temperança, e o cristianismo as adotou. As três virtudes místicas que o cristianismo não adotou, mas inventou, são fé, esperança e caridade. Muita retórica agradável e insensata poderia ser despejada a respeito das três virtudes, mas desejo limitar-me a dois fatos evidentes. O primeiro fato evidente (em nítido contraste com a ilusão do pagão dançarino) – o primeiro fato evidente, digo, é que as virtudes pagãs, tais como justiça e temperança, são virtudes tristes, e que as virtudes místicas da fé, esperança e caridade são virtudes alegres e exuberantes. E o segundo fato evidente, que é ainda mais óbvio, é o fato de as virtudes pagãs serem razoáveis, e as virtudes cristãs da fé, da esperança e da caridade serem, em essência, muito irracionais.
Como a palavra “irracional” é dada a mal-entendidos, a questão pode ser proposta, com mais acurácia, ao dizer que cada uma das virtudes místicas e cristãs contém, na própria natureza, um paradoxo, o que não é verdade no caso de qualquer uma das virtudes racionais tipicamente pagãs. A justiça consiste em descobrir determinada coisa devida a certo homem e lha dar. A temperança consiste em descobrir o limite adequado de um prazer específico e aderir a tal limite. Todavia, a caridade significa perdoar o imperdoável, ou, absolutamente, não é uma virtude. A esperança significa confiar quando não há mais o que esperar, ou não é virtude alguma. E a fé significa acreditar no inacreditável, ou não há de ser virtude.
É um tanto divertido, certamente, observar a diferença entre o destino dos três paradoxos nos costumes da alma moderna. A caridade é, atualmente, uma virtude em voga; é acesa pela chama gigantesca de Dickens. A esperança está também na moda; nossa atenção foi capturada pelo súbito e eloqüente clarim de Stevenson. Mas a fé não está na moda, e é comum lançarem-lhe a acusação de ser um paradoxo. Todo o mundo repete zombeteiramente a famosa definição infantil de que a fé “é o poder de acreditar naquilo que sabemos não ser verdade”. Mesmo assim, não é nem um átomo sequer mais paradoxal do que a esperança ou a caridade. A caridade é o poder de defender aquilo que sabemos indefensável. A esperança é o poder de estar bem-disposto em circunstâncias que sabemos desesperadoras. É verdade que há um estado esperançoso que pertence às perspectivas brilhantes e às manhãs ensolaradas; mas isso não é a virtude da esperança. A virtude da esperança existe apenas nos terremotos e nos eclipses. É verdade que há algo imperfeitamente chamado de caridade, que pretende caridade ao pobre que a merece; mas isso não é, de modo algum, caridade, e sim justiça. É o indigno que a exige: o ideal não existe de forma alguma ou existe apenas para tais casos. Para efeitos práticos, é nos momentos de desesperança que necessitamos de um homem esperançoso, caso contrário, ou não existe virtude ou ela passa a existir nesses momentos. É exatamente no instante em que a esperança deixa de ser razoável que ela começa a ser útil.
Ora, o antigo mundo pagão ia perfeitamente bem até descobrir que ir bem era um enorme erro. Era nobre e belissimamente razoável, e descobriu uma duradoura e valorosa verdade na derradeira aflição, um patrimônio para todas as épocas: a racionalidade não era o suficiente. A era pagã, na verdade e em essência, foi um Éden ou uma era dourada, e isso não é restaurável. Tal período não deve mais ser restabelecido no sentido de que, embora sejamos, por certo, mais alegres e muito mais justos do que os pagãos, não há ninguém que possa, nem usando os últimos laivos de energia, ser tão sensível quanto um pagão. A pura inocência do intelecto não pode ser recuperada, por quem quer que seja, após o cristianismo; e por uma excelente razão: a de que todos, após o advento do cristianismo, sabemos que ela é ilusão. Permitam que eu dê um exemplo, o primeiro que vem à mente, dessa impossível simplicidade pagã de ponto de vista. O maior tributo ao cristianismo no mundo moderno foi o poema Ulisses de Tennyson.238 O poeta interpreta a história de Ulisses a partir da concepção de um incurável desejo de andar a esmo. Mas o verdadeiro Ulisses não deseja vagar. Deseja chegar à sua casa. Apresenta as qualidades heróicas e invencíveis ao resistir aos infortúnios que lhe criam obstáculos; mas isso é tudo. Não há amor à aventura pela aventura; isso é um produto cristão. Não há um amor por Penélope239 por ela mesma; isso é um produto cristão. Tudo naquele mundo antigo parecia ser claro e óbvio. Um homem bom era um homem bom; um homem mau era um homem mau. Por esse motivo não tinham caridade; pois a caridade é um agnosticismo reverente à complexidade da alma. Por essa razão não tinham algo como a arte da ficção, o romance; pois o romance é uma criação da idéia mística da caridade. Para eles, uma paisagem agradável era agradável, e uma paisagem desagradável, desagradável. Portanto, não tinham idéia do romance; pois romancear consiste em pensar algo como mais agradável por ser perigoso; isso é uma idéia cristã. Em suma: não podemos reconstruir ou mesmo imaginar o belo e surpreendente mundo pagão. Era um mundo em que o senso comum era realmente comum.
Minha acepção geral das três virtudes está agora, espero, suficientemente clara. Todas as três são paradoxais, todas as três são práticas, e todas as três são paradoxais porque são práticas. É a desagradável influência da necessidade suprema, e um terrível conhecimento das coisas como são, que levou os homens a estabelecer tais enigmas, e a morrer por eles. Qualquer que seja o significado da contradição, é fato que o único tipo de esperança que tem alguma utilidade numa batalha é a esperança que nega a aritmética. Qualquer que seja o significado da contradição, é fato que o único tipo de caridade que qualquer espírito fraco deseja, ou que qualquer espírito generoso sente, é a caridade que perdoa os pecados mais escarlates. Qualquer que seja o significado da fé, deve sempre significar uma certeza sobre algo que não podemos provar. Assim, por exemplo, acreditamos, por intermédio da fé, na existência de outras pessoas.
Mas há outra virtude cristã, uma virtude muito mais óbvia e historicamente relacionada ao cristianismo, que ilustrará ainda melhor a conexão entre paradoxo e necessidade prática. Esta virtude não pode ser questionada na qualidade de símbolo histórico; certamente o Sr Lowes Dickinson não a questionará. Tem sido motivo de orgulho de centenas de paladinos da cristandade. Tem sido o escárnio de centenas de adversários do cristianismo. É o âmago, a base de toda a distinção do Sr Lowes Dickinson entre cristianismo e paganismo. Refiro-me, claro, à virtude da humildade. Admito, de muito bom grado, que uma grande parte de falsa humildade oriental (isto é, humildade rigorosamente ascética) imiscuiu-se no cristianismo europeu. Não devemos nos esquecer que, ao falarmos de cristianismo, estamos falando de todo um continente por cerca de mil anos. No entanto, no que diz respeito a essa virtude, muito mais do que nas três anteriores, sustentaria a mesma proposição geral adotada acima. A civilização descobriu a humildade cristã pela mesma razão imperativa por que descobriu a fé e a caridade – isto é, porque a civilização cristã tinha de descobri-la ou morreria.
A grande descoberta psicológica do paganismo, que o converteu ao cristianismo, pode ser representada com bastante rigor numa expressão. O pagão descobriu, com admirável inteligência, como ter prazer. Ao fim de sua civilização, descobrira que não era possível ter prazer e continuar a desfrutar das demais coisas. O Sr Lowes Dickinson tem nos alertado, com palavras por demais excelentes e que não necessitam de mais explicações, em relação à absurda superficialidade daqueles que acreditam que o pagão tinha prazeres apenas no sentido material. É claro, deleitava-se não só de forma intelectual, desfrutava da moral, tinha gozos espirituais. Mas desfrutava de si mesmo; dadas as circunstâncias, algo muito natural a ser feito. Ora, a descoberta psicológica é simplesmente esta: já que supuseram que o máximo de prazer possível é encontrado no prolongamento infinito do ego, a verdade é que a plenitude possível do prazer é obtida pela redução do ego a zero.
A humildade é algo que está sempre renovando a Terra e as estrelas. É a humildade, e não o dever, que protege as estrelas do erro, do imperdoável erro, de uma sujeição casual; é por meio da humildade que o mais antigo dos céus, para nós, está viçoso e forte. A maldição, ocorrida antes da história, infligiu a todos os homens um pendor para nos fatigarmos dos prodígios. Caso víssemos o sol pela primeira vez, seria o mais terrível e belo dos meteoros. Agora que o vemos pela milésima vez, chamamo-lo, usando a expressão medonha e blasfema de Wordsworth, “luz do dia comum”.240 Estamos dispostos a aumentar nossas exigências. Estamos dispostos a exigir seis sóis, a exigir um sol azul, a exigir um sol verde. A humildade está perpetuamente nos fazendo voltar às trevas primordiais. Lá, toda luz é um raio, aterrorizante e instantâneo. Até que compreendamos as trevas primordiais, em que não temos nem visão nem expectativas, não poderemos dar calorosos e inocentes louvores ao esplêndido sensacionalismo das coisas. Os termos “pessimismo” e “otimismo”, como a maioria dos termos modernos, não têm significado. Mas se puderem ser usados num sentido indeterminado como se significassem algo, poderíamos dizer que, em relação a essa circunstância, o pessimismo é a verdadeira base do otimismo. O homem que se destrói cria o universo. Para o homem humilde, e apenas para ele, o sol é realmente um sol; para o homem humilde, e apenas para ele, o mar é realmente um mar. Quando olha, na rua, para todos os rostos, não só percebe que os homens estão vivos, assim como percebe, com um prazer comovente, que não estão mortos.
Não mencionei outro aspecto da descoberta da humildade como uma necessidade psicológica porque é um aspecto mais comum e pertinaz e, por isso, mais óbvio. Contudo, é igualmente claro que a humildade é uma necessidade definitiva como condição de diligência ou de exame de consciência. Uma das falácias mortais do nacionalismo chauvinista é a afirmação de que uma nação se torna mais forte por desprezar outras nações. De fato, as nações mais firmes são aquelas, como a Prússia ou o Japão, que tiveram um início miserável, mas que não foram orgulhosas e sentaram aos pés do estrangeiro para aprender tudo o que ele tinha a ensinar. Quase toda vitória evidente e direta tem sido a vitória do plagiador. Este é, por certo, somente um subproduto muito insignificante da humildade, mas é um produto da humildade e, portanto, é bem-sucedido. A Prússia não tinha a humildade cristã na organização interna; assim os programas de ação eram míseros. No entanto, possuía suficiente humildade cristã para copiar servilmente a França (chegando até a poesia de Frederico, o grande),241 e o que teve a humildade para copiar, ao final, teve a honra de conquistar. O caso dos japoneses é ainda mais evidente. Sua única qualidade cristã, sua única bela qualidade, foi a de se humilharem para serem exaltados. Não obstante toda a visão da humildade como uma questão de diligência e de empenho em atingir padrões elevados, afirmo que tal lado não foi suficientemente enfatizado por quase nenhum dos escritores idealistas.
Pode valer a pena, contudo, chamar atenção para a interessante disparidade a respeito da humildade na noção moderna de homem forte e nos verdadeiros testemunhos de homens fortes. Carlyle242 objetou em relação à afirmação de que nenhum homem é herói para o próprio criado.243 Pode merecer toda a nossa simpatia, nesse ponto, caso tenha querido se referir à expressão, mera ou principalmente, em menosprezo ao culto da figura do herói. O culto ao herói é certamente um impulso humano e magnânimo; o herói pode ter defeitos, mas o culto dificilmente pode. Pode ser que nenhum homem seja herói para o próprio criado. Mas qualquer homem é um criado para o herói. Mas tanto o provérbio quanto a crítica severa de Carlyle ignora a questão mais essencial em debate. A suprema verdade psicológica não é que alguém seja herói para seu criado. A suprema verdade psicológica, o fundamento do cristianismo, é que ninguém seja um herói para si mesmo. Cromwell,244 segundo Carlyle, era um homem forte. Segundo o próprio Cromwell, era um fraco.
O ponto fraco de toda a argumentação de Carlyle relativa à aristocracia se encontra, de fato, na sua expressão mais célebre. Carlyle disse que a maioria dos homens era tola. O cristianismo, com um realismo mais seguro e reverente, diz que todos os homens são tolos. Essa doutrina é, às vezes, chamada de doutrina do Pecado Original. Pode também ser descrita como a doutrina da igualdade dos homens. Todavia, o ponto essencial é que, independente de quais sejam os perigos basilares e de grande abrangência que venham a afetar cada um dos homens, eles afetarão a todos. Todos os homens podem ser criminosos, caso sofram tentação; todos os homens podem ser heróis, caso sejam inspirados. E essa doutrina acaba totalmente com a patética crença de Carlyle (ou de qualquer outro) nos “poucos sábios”. Não há poucos sábios. Toda aristocracia que já existiu se comportou, em todos os pontos essenciais, exatamente como uma pequena turba. Toda oligarquia é meramente uma aglomeração de homens na rua – e isto equivale a dizer que é muito bem-disposta, mas não é infalível. E nenhuma das oligarquias da história mundial nunca se saiu tão mal nos assuntos práticos quanto as oligarquias demasiado orgulhosas – a oligarquia da Polônia, a oligarquia de Veneza. E os exércitos que mais rápida e repentinamente derrubaram os inimigos foram os exércitos religiosos – os exércitos muçulmanos, por exemplo, ou os exércitos puritanos. E um exército religioso, pela própria natureza, pode ser definido como um exército em que cada homem é ensinado a não se exaltar, mas a se humilhar. Muitos ingleses modernos falam de si como vigorosos descendentes dos seus vigorosos antepassados puritanos. Na verdade, sairiam correndo de uma vaca. Se perguntássemos a um dos antepassados puritanos, se perguntássemos a Bunyan,245 por exemplo, se era vigoroso e forte, teria respondido, com lágrimas, que era tão fraco como a água. E, por isso, suportou torturas. Portanto, a virtude da humildade, embora seja prática a ponto de vencer batalhas, será sempre paradoxal o bastante para confundir os pedantes. Nesse aspecto, está de acordo com a virtude da caridade. Toda pessoa generosa admitirá que o tipo de pecado que a caridade deve dominar é o pecado imperdoável. E toda pessoa generosa igualmente há de concordar que o tipo de orgulho totalmente condenável é o do homem que tem algo de que se orgulhar. O orgulho que, proporcionalmente falando, não fere o caráter é o orgulho de coisas que não envolvem nenhum crédito pessoal. Assim, não há mal algum em orgulhar-se do próprio país e, comparativamente, há pouco mal em orgulhar-se de ancestrais remotos. Faz mais mal orgulhar-se de ter ganhado dinheiro, porque, nesse caso, a pessoa tem um pouco mais de razão para se orgulhar. Faz mais mal ainda se orgulhar do que é mais nobre que dinheiro – o intelecto. E faz um mal extremo se orgulhar da coisa mais valiosa da Terra – a bondade. O homem que se orgulha dos seus reais predicados é um fariseu, um tipo de homem que o próprio Cristo nunca pôde deixar de atacar.
Minha objeção ao Sr Lowes Dickinson e aos novos defensores do ideal pagão é, então, a seguinte: acuso-os de ignorar descobertas decisivas no universo moral, descobertas tão decisivas, embora não tão materiais, como a descoberta da circulação do sangue. Não podemos retornar a um ideal de razão e sanidade, visto que a humanidade descobriu que a razão não leva à sanidade. Não podemos retornar a um ideal de orgulho e prazer, pois a humanidade descobriu que o orgulho não leva ao prazer. Não sei por qual extraordinário acidente mental os escritores modernos muito constantemente ligam a idéia de progresso à idéia de pensamento independente. O progresso é, obviamente, a antítese do pensamento independente. Por meio do pensamento independente e individual, cada homem parte do início e vai, com toda probabilidade, apenas tão longe quanto o pai fora antes dele. Mas, se realmente houver algo da mesma natureza do progresso, isso deverá significar, acima de tudo, um exame cuidadoso e a aceitação da totalidade do passado. Culpo o Sr Lowes Dickinson e sua escola reativa num único e verdadeiro sentido. Caso queira, deixemo-lo rejeitar os grandes mistérios históricos – o mistério da caridade, o mistério do cavalheirismo, o mistério da fé. Caso queira, deixemo-lo ignorar o arado ou a máquina de impressão. No entanto, caso queiramos reviver e seguir o ideal pagão da autocontemplação simples e racional, terminaremos onde o paganismo terminou. Não digo que devamos terminar em ruínas. Digo que terminaremos no cristianismo.
232 Goldsworthy Lowes Dickinson (1862–1932) foi historiador, ativista político, pacifista (fez oposição à participação da Inglaterra na I Grande Guerra), globalista (apoiou da Liga das Nações). Homossexual assumido, esteve ligado ao grupo de intelectuais e literatos de Bloomsbury.
233 O título do artigo é a passagem bíblica de 1 Rs 18,21: “Até quando claudicareis das duas pernas?”
234 A Independent Review (1904–1911) foi uma revista acadêmica progressista, fundada pelo historiador G.M. Trevelyan (1876–1962) em Londres, da qual Dickinson era membro do conselho editorial.
235 Simeão, também conhecido como Simeão, o Estilita (386–459), foi um eremita que, sentindo o chamamento divino, escolheu uma vida de recolhimento, ascetismo e oração. Refugiou-se no cimo de um monte para isolar-se do mundo e das tentações. Incomodado, contudo, com a fama de santidade, Simeão passou a viver, por cerca de 30 anos, em cima de um pilar que foi crescendo à medida que sua fama aumentava, tendo possivelmente atingido os 15 metros de altura.
236 Também chamado pelos romanos de Apolo. Depois de Zeus (Júpiter), um dos deuses mais importantes da mitologia. Sempre jovem, personificava a luz e regia a poesia, a música, a profecia e a canção.
237 Pã (Lupércio ou Lupercus em Roma) era o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores na mitologia grega. Residia em grutas e vagava pelos vales e pelas montanhas, caçando ou dançando com as ninfas. Era representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Amante da música, trazia sempre consigo uma flauta.
238 Alfred Tennyson, 1° Barão de Tennyson (1809–1892) foi um poeta laureado na Inglaterra vitoriana e ainda é um dos poetas mais populares em língua inglesa. O poema Ulisses (1833), escrito após a morte do amigo Arthur Henry Hallam (1811–1833), descreve um Ulisses resoluto e heróico, com admirável determinação; no entanto, estudiosos apontam que há na personagem um desejo constante de buscar o inexplorado, e tal expedição seria a principal meta do herói.
239 Esposa de Ulisses que o aguarda durante todo o período da Guerra de Tróia, como narrado na Odisséia de Homero (século VIII a.C.).
240 Referência à estrofe 75–76 do poema Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, que diz: “At length the Man perceives it die away, / And fade into the light of common day”.
241 Frederico II da Prússia (1712–1781), déspota esclarecido, amante da música, das artes e da literatura francesas. Trocou correspondência com vários eruditos franceses, entre eles Voltaire. Também foi grande estrategista militar e um dos responsáveis por criar a grandeza da Prússia.
242 Thomas Carlyle (1795–1881) foi um escritor satírico, ensaísta e historiador escocês do período vitoriano. Desenvolveu a idéia de que a História poderia ser interpretada pela vida dos grandes homens, e chegou a escrever sobre a vida de Oliver Cromwell (1599–1658) na obra chamada Letters and Speeches of Oliver Cromwell (1845) e Frederico II da Prússia (1712–1781).
243 Frase atribuída ao filósofo alemão G.F.W. Hegel (1770–1831). Chesterton se refere à objeção de Carlyle na obra On Heroes, Hero-worship and the Heroic in History de 1841. Para o escritor vitoriano, o heroísmo repousaria na energia criativa do herói e não na sua perfeição moral. Em oposição ao heroísmo, chamou de “valetism” [em português, criadismo] a filosofia daqueles que buscam o conforto no convencional e escarnecem das falhas alheias.
244 Oliver Cromwell (1599–1658) foi um dos líderes da guerra civil inglesa que derrubou o rei, tornando-se Lord Protector. Governou a Inglaterra de 1653 até a morte e instaurou uma república puritana.
245 John Bunyan (1628–1688) foi um influente escritor puritano do século XVII na Inglaterra. Dentre suas obras temos a alegoria cristã mais famosa de todos os tempos, The Pilgrim’s Progress (1678).
CAPÍTULO XIII
Os celtas e os celtófilos
A CIÊNCIA TEM MUITOS usos no mundo moderno. Contudo, seu principal uso é proporcionar longas palavras para encobrir os erros dos ricos. A palavra “cleptomania” é um exemplo trivial daquilo que tenciono dizer. Equipara-se àquela estranha teoria que é sempre aventada quando uma pessoa rica ou eminente está no banco dos réus; a de que o escândalo é uma punição muito maior para o rico do que para o pobre. Obviamente, o inverso é verdadeiro. O escândalo é uma punição maior para o pobre do que para o rico. Quanto mais rico é o sujeito, mais facilmente será um vagabundo. Quanto mais rico é o sujeito, mais facilmente será popular e respeitado nas Ilhas Canibais.246 No entanto, quanto mais pobre é o sujeito, maior a probabilidade de ter de usar o seu passado para conseguir um lugar para dormir. Honra é um luxo para aristocratas, mas uma necessidade para porteiros. Esta é uma questão secundária, mas é um exemplo da proposição geral que apresento: a proposição de que uma enorme soma de criatividade moderna é gasta em busca de defesas para a indefensável conduta dos poderosos. Como disse acima, tais defesas se apresentam mais acentuadamente na forma de apelos à ciência material. E, de todas as formas que aparecem na ciência, ou na pseudociência, para resgatar o rico e obtuso, não há nenhuma tão singular quanto a peculiar invenção da teoria das raças.
Quando uma nação rica, como a Inglaterra, descobre o fato perfeitamente evidente de que está promovendo uma desordem ridícula no governo de uma pobre nação como a Irlanda, hesita por um momento, consternada, e então começa a falar sobre celtas e teutões. Até onde consigo entender a teoria, os irlandeses são celtas e os ingleses são teutões. É claro que os irlandeses não são celtas, como tampouco os ingleses são teutões. Não acompanhei a discussão etnológica com interesse, mas a última conclusão científica que li tendia, em geral, à conclusão de que os ingleses são essencialmente celtas e os irlandeses, em essência, teutões. Mas não há quem, mesmo que tenha um pouco da verdadeira percepção científica, possa sonhar em aplicar os termos “celta” ou “teutão” a um desses povos, em qualquer sentido positivo ou benéfico.
Tal tipo de coisa deve ser deixado para os que falam a respeito da raça anglo-saxônica, e estendem a expressão aos Estados Unidos. Quanto ainda resta do sangue dos anglos e saxões (quem quer que sejam) na mesclada linhagem dos ingleses, romanos, alemães, dinamarqueses, normandos e picardos247 é uma questão que interessa somente aos mais desvairados antiquários. E quanto desse sangue diluído possa ainda restar no vibrante redemoinho norte-americano, em que uma torrente de suecos, judeus, alemães, irlandeses e italianos está em perpétuo jorro, é um assunto que só interessa a lunáticos. A classe governante inglesa teria sido mais sensata caso recorresse a algum outro deus. Todos os outros deuses, embora fracos e antagônicos, pelo menos se orgulham de possuir constância. Mas a ciência se vangloria de estar num fluxo eterno; exulta por ser instável como a água.
A Inglaterra e a classe governante inglesa nunca invocaram essa absurda divindade de raça até parecer, por um instante, que não tinham outro deus ao qual recorrer. Todos os mais autênticos ingleses da História se aborreceriam e escarneceriam abertamente, caso começássemos a falar sobre anglo-saxões. Se tentássemos substituir o ideal de nacionalidade pelo de raça, realmente não gostaria de pensar o que os ingleses do passado teriam dito. Por certo não gostaria de ter sido o capitão do navio de Nelson que descobriu ter sangue francês na véspera da batalha de Trafalgar.248 Não gostaria de ter sido o cavalheiro de Norfolk ou Suffolk que teve de explicar ao almirante Blake249 por quais inalteráveis laços genealógicos o militar se ligava aos holandeses. A verdade de tudo isso é muito simples. A nacionalidade existe, e nada neste mundo a relaciona com a raça. Nacionalidade é algo como uma igreja ou uma sociedade secreta; é um produto da alma e da vontade humanas; é um produto espiritual. E há homens no mundo moderno que pensariam ou fariam qualquer coisa em lugar de admitir que a nacionalidade possa ser um produto espiritual.
Uma nação, no entanto, ao se confrontar com o mundo moderno, é um produto puramente espiritual. Por vezes nasce independente, como a Escócia. Ocasionalmente nasce dependente, subjugada, como a Irlanda. De vez em quando é algo maior formado pela aglutinação de partes menores, como a Itália. Às vezes é algo pequeno formado a partir do desaparecimento de coisas maiores, como a Polônia. Mas, em todos os casos, a qualidade é puramente espiritual, ou, se preferirem, puramente psicológica. É o momento em que cinco homens se tornam um sexto. Quem quer que tenha fundado um clube conhece isso. É o momento em que cinco lugares se tornam um só lugar. Quem quer que tenha repelido uma invasão sabe disso. O Sr Timothy Healy,250 o mais sério intelecto na Câmara dos Comuns,251 resumiu perfeitamente o significado de nacionalidade quando a definiu como algo pelo qual as pessoas morrem. E disse, magistralmente, em resposta a Lorde Hugh Cecil,252 “Ninguém, nem mesmo um nobre, morreria pelo meridiano de Greenwich”. E esse é o grande tributo ao caráter puramente espiritual da nacionalidade. Inútil perguntar por que Greenwich não deva aderir a esse uso espiritual como o fez Atenas ou Esparta. É como perguntar por que um homem se apaixona por uma mulher e não por outra.
Ora, da grande ligação espiritual, independente de circunstâncias externas, de raça, ou de qualquer coisa física, a Irlanda é o exemplo mais notável. Roma conquistou nações, mas a Irlanda conquistou raças. Os normandos foram para lá e se tornaram irlandeses, os escoceses foram para lá e se tornaram irlandeses, os espanhóis foram para lá e se tornaram irlandeses, até os implacáveis soldados de Cromwell foram para lá e se tornaram irlandeses. A Irlanda, que não existia nem mesmo politicamente, foi mais forte que todas as raças que existiam cientificamente. O mais puro sangue alemão, o mais puro sangue normando, o mais puro sangue do patriota escocês, não foram tão atraentes quanto uma nação sem bandeira. A Irlanda, não reconhecida e oprimida, facilmente absorveu raças, assim como ninharias são bem assimiladas. Desembaraçou-se da ciência material, como se se livrasse de superstições. A nacionalidade, na própria fraqueza, foi mais forte que a mais vigorosa etnologia. Cinco raças triunfantes foram absorvidas, vencidas por uma nacionalidade malograda.
Por ser essa a verdadeira e estranha glória da Irlanda, é impossível ouvir, sem ficar impaciente, as tentativas de seus modernos simpatizantes ao falar sobre celtas e o celtismo. Quem eram os celtas? Desafio qualquer um a responder. Quem são os irlandeses? Desafio qualquer pessoa a ficar indiferente, ou fingir não saber. O Sr W.B. Yeats, o grande gênio irlandês de nosso tempo, demonstra uma perspicácia admirável ao rejeitar completamente o argumento de uma raça celta.253 Mas não consegue se livrar totalmente, e seus seguidores nunca se libertaram da objeção geral ao argumento celta. A tendência desse argumento é representar os irlandeses ou os celtas como uma raça estranha e apartada, como uma tribo de excêntricos no mundo moderno, imersa em lendas obscuras e sonhos infrutíferos. A tendência é mostrar os irlandeses como excêntricos, porque vêem fadas. A tendência é fazer os irlandeses parecerem misteriosos e selvagens porque cantam canções antigas e tomam parte em danças estranhas. Mas isso é um grande erro. De fato, é o oposto da verdade. Os ingleses é que são os esquisitos, pois não vêem fadas. Os habitantes de Kensington254 é que são misteriosos e selvagens porque não cantam antigas canções e não fazem danças estranhas. No conjunto, os irlandeses não são nem um pouco estranhos ou isolados, não são nem um pouco celtas, na acepção comum e popular do termo. No geral, os irlandeses são apenas uma nação sensata e comum, levando a vida de qualquer nação sensata e comum que não foi inundada de fumaça, oprimida por agiotas ou corrompida com riqueza ou ciência. Não há nada celta em possuir lendas. Isso é simplesmente humano. Os alemães, que são (suponho) teutões, têm centenas de lendas onde quer que estejam. Não há nada de celta em amar poesia; os ingleses amavam a poesia mais, talvez, do que qualquer outro povo antes de ficarem sob a sombra das chaminés e das cartolas. Não é a Irlanda que é louca e mística; Manchester255 que é louca e mística, Manchester que é inacreditável, ela que é uma bárbara exceção entre as coisas humanas. A Irlanda não tem necessidade de jogar o jogo tolo da ciência das raças. A Irlanda não tem necessidade de fingir ser uma isolada tribo de visionários. Em matéria de visão, a Irlanda é muito mais que uma nação, é uma nação-modelo.
246 Hoje, Arquipélago de Fiji. Durante muito tempo esse conjunto de ilhas foi conhecido como Ilhas Canibais, pois os habitantes eram bárbaros e cruéis e o canibalismo, um hábito natural.
247 Habitantes da Picardia, província francesa localizada ao norte do país, cuja capital era a cidade de Amiens.
248 A Batalha de Trafalgar foi uma batalha naval ocorrida entre a França e a Espanha contra a Inglaterra, em 21 de outubro de 1805, no período napoleônico, ao longo do cabo de Trafalgar, na costa espanhola.
249 Robert Blake (1599–1657) foi um dos mais importantes almirantes ingleses, e o mais famoso do século XVII. Destacou-se na primeira guerra anglo-holandesa em 1652 e na guerra anglo-espanhola de 1654.
250 Timothy Michael Healy (1855–1931) foi um político nacionalista irlandês, jornalista, escritor e advogado. Defendeu um governo nacional para a Irlanda e foi um dos mais controversos membros do Parlamento britânico.
251 Câmara dos Comuns é a câmara baixa do Parlamento do Reino Unido. É composta por aproximadamente 640 membros chamados de Members of Parliament.
252 Hugh Richard Heathcote Gascoyne-Cecil (1869–1956), 1º Barão de Quickswood, chamado de Lorde Hugh Cecil até o ano de 1941, foi um político do Partido Conservador. Eleito, em 1895, como membro do Parlamento por Greenwich, manteve o posto até 1906.
253 As primeiras obras de Yeats (1865–1939) tratavam de temas mitológicos de forma romântica e fantasiosa, como na coletânea, de 1893, chamada The Celtic Twilight. Foi um dos responsáveis pelo estabelecimento do movimento literário conhecido como Renascimento Literário Irlandês (ou Renascimento Celta).
254 Bairro da parte oeste de Londres, altamente povoado.
255 No século XIX, a cidade de Manchester era conhecida como “a primeira cidade industrial”. Estava repleta de armazéns, fábricas, manufaturas têxteis e escritórios comerciais e por volta de 1900 era a nona cidade mais populosa do mundo.
CAPÍTULO XIV
Alguns escritores modernos
e a instituição da família
A FAMÍLIA PODE SER claramente caracterizada como a suprema instituição humana. Todos deveriam admitir que ela tem sido, até agora, a célula-mãe e a unidade central de quase todas as sociedades, salvo, na verdade, de sociedades como as da Lacedemônia,256 que decidiram pela “eficiência” e, portanto, pereceram sem deixar vestígios. O cristianismo, ainda que sua revolução tenha sido enorme, não alterou tal antiga e selvagem santidade; simplesmente a inverteu. Não negou a trindade de pai, mãe e filho. Apenas leu em sentido contrário, fazendo-a passar para filho, mãe e pai. Esta não é chamada de família, mas de Sagrada Família, pois muitas coisas são santificadas ao virar de ponta-cabeça. Mas alguns sábios, frutos de nossa decadência, lançaram um sério ataque à família. Refutaram-na, a meu ver, erroneamente; e seus defensores defenderam-na, e defenderam-na erroneamente. A apologia habitual da família é ser, em meio à tensão e à instabilidade da vida, pacífica, agradável e cordata. Mas há outra possível defesa da família e, para mim, evidente; a da família não ser pacífica, não ser agradável e não ser cordata.
Não é elegante, hoje em dia, tecer muitos comentários a respeito das vantagens da pequena comunidade. Dizem que devemos participar de vastos impérios e cultivar idéias grandiosas. Há uma vantagem, contudo, num pequeno estado, cidade ou vila, que apenas os deliberadamente cegos conseguem deixar de ver: o homem que vive na pequena comunidade vive num mundo mais amplo. Sabe muito mais sobre as diversidades ameaçadoras e as divergências intransigentes dos homens. O motivo é óbvio. Numa grande comunidade, podemos escolher nossos parceiros. Numa comunidade pequena, os parceiros nos são escolhidos. Assim, em todas as sociedades grandes e altamente civilizadas surgem grupos baseados no que chamamos de afinidade, e excluem o mundo real de um modo mais brusco do que os portões de um monastério. Não há nada verdadeiramente limitado no clã; o que realmente é limitado é a camarilha. Os homens do clã vivem juntos porque todos usam o mesmo tartan257 ou descendem da mesma vaca sagrada; mas em suas almas, pela felicidade divina, haverá sempre mais cores que em qualquer tartan. Os homens da camarilha, contudo, convivem porque têm o mesmo tipo de alma, e a pequenez deles é a pequenez da coerência espiritual e da satisfação, como o que há no inferno. A grande sociedade existe para formar camarilhas. A grande sociedade é uma sociedade para a promoção da limitação. É um mecanismo que visa proteger o indivíduo solitário e sensível da experiência dolorosa e fortalecedora de assumir compromissos humanos. É, no sentido mais literal das palavras, uma sociedade para a prevenção da cultura cristã.
Podemos ver tal mudança, por exemplo, na moderna transformação do que chamamos clube. Quando Londres era menor, e as regiões de Londres eram mais reservadas e provincianas, o clube era o que ainda é nos vilarejos, o oposto do que é agora nas cidades grandes. Naquela ocasião, o clube era valorizado como um lugar onde o homem podia ser sociável. Agora, o clube é valorizado por ser um lugar onde podemos ser anti-sociais. Quanto mais dilatada e complicada for nossa sociedade, mais o clube deixará de ser um lugar onde podemos ter uma discussão ruidosa, e se torna, cada vez mais, um lugar onde conseguimos desfrutar de algo fantasticamente chamado de tranqüilo aparte. O objetivo de tal clube é tornar o homem confortável, e torná-lo confortável é o oposto de torná-lo sociável. A sociabilidade, como tudo o que é bom, é cheia de desconfortos, perigos e renúncias. O clube tende a produzir a mais degradada das combinações – o anacoreta voluptuoso, o homem que combina a permissividade de Lúculo258 com a solidão insana de São Simeão Estilita.
Caso amanhã de manhã fiquemos ilhados pela neve na rua onde moramos, de repente poderemos entrar num mundo muito mais vasto e bravio do que jamais seríamos capazes de imaginar. Eis todo o afã da pessoa tipicamente moderna para escapar da rua onde mora. Primeiramente, forja a ciência sanitária moderna e vai para Margate.259 Então, fantasia a cultura moderna e vai para Florença. Depois, inventa o imperialismo moderno e vai para Tombuctu. Vai para as fantásticas fronteiras da Terra. Finge atirar em tigres. Quase anda de camelo. E nisso tudo, em essência, ainda está fugindo da rua onde nasceu. Para essa fuga traz sempre pronta a explicação. Diz estar fugindo porque a rua é maçante. Está mentindo. Na verdade, foge da rua porque é excitante demais. É excitante porque é difícil de agradar; é exigente porque está viva. Esta pessoa pode visitar Veneza porque, para ela, os venezianos são apenas venezianos; as pessoas de sua rua são pessoas. Pode cravar os olhos nos chineses porque, para ela, os chineses são passivos e devem ser encarados. Caso olhe fixamente para a senhora idosa no jardim ao lado de casa, a senhora reagirá. Em suma, a pessoa é forçada a fugir de uma sociedade de pares demasiado estimulante – homens livres, perversos, grosseiros, deliberadamente diferentes dela. Uma rua em Brixton260 é excitante e opressora demais. A pessoa tem de ficar calma e tranqüila entre tigres e abutres, camelos e crocodilos; essas criaturas são, de fato, muito diferentes dela. Contudo, não travam, pela forma, cor ou vestimenta, uma clara competição intelectual. Não procuram destruir os princípios da pessoa e afirmar os próprios; já os estranhos monstros da rua suburbana o pretendem fazer. O camelo não contorce o rosto num belo esgar porque o Sr Robinson não tem uma corcova; já o cavalheiro culto do apartamento de número 5 mostra um sorriso de escárnio porque Robinson não tem um pedestal em seu apartamento. O abutre não gargalhará porque a pessoa não voa; mas, o major do apartamento de número 9 morrerá de rir porque tal pessoa não fuma. A reclamação que normalmente fazemos de nossos vizinhos é que não cuidam, como dizemos, das próprias vidas. Na verdade não pretendemos dizer que não cuidam de suas vidas. Se nossos vizinhos não cuidassem das próprias vidas, seriam bruscamente despejados por deixar de pagar o aluguel e deixariam de ser nossos vizinhos. O que realmente pretendemos dizer ao afirmar que os vizinhos não cuidam da própria vida é algo mais profundo. Não desgostamos deles por terem pouco vigor e brilho a ponto de não conseguirem se interessar por nós. Desgostamos deles porque têm demasiado vigor e brilho e também por conseguirem se interessar por nós. O que tememos em nossos vizinhos, em suma, não é a estreiteza de horizontes, mas a soberba tendência a ampliá-los. E todas as aversões à humanidade mediana têm esse caráter geral. Não são aversões à debilidade (como se julga), mas à energia. Os misantropos fingem que odeiam a humanidade por sua fraqueza. Na realidade, odeiam-na por sua força.
Esse retrocesso da bestial vivacidade e brutal variedade dos homens comuns é, certamente, uma coisa perfeitamente razoável e desculpável, desde que não alegue qualquer nível de superioridade. Quando o retrocesso chama a si mesmo de aristocracia, ou estetismo, ou uma superioridade com relação à burguesia, é que a sua fraqueza inerente tem de ser, por justiça, ressaltada. O tédio é o mais perdoável dos vícios; no entanto, é a mais imperdoável das virtudes. Nietzsche é quem representa, de modo mais eminente, a reivindicação pretensiosa dos enfastiados, e apresenta nalgum lugar uma descrição – potente no sentido puramente literário – da aversão e desdém que o consome ao avistar pessoas comuns com rostos comuns, vozes comuns e mentes comuns. Como já disse, essa atitude é quase bela se não fosse patética. A aristocracia de Nietzsche possui, além disso, a sacralidade dos fracos. Quando nos faz sentir que não suporta os inumeráveis rostos, as incessantes vozes, a avassaladora onipresença característica da multidão, ele obterá a compreensão de qualquer um que tenha estado doente num navio a vapor ou cansado num ônibus lotado. Todo homem odiou a humanidade quando foi menos que um homem. Todo homem já teve a humanidade diante dos olhos como uma bruma, já teve a humanidade entrando pelas narinas como um odor sufocante. Mas quando Nietzsche tem a incrível falta de humor e de imaginação de nos pedir que acreditemos que sua aristocracia é uma aristocracia de músculos fortes ou uma aristocracia de vontades fortes, é preciso mostrar a verdade. É uma aristocracia de nervos fracos.
Escolhemos os amigos, escolhemos os inimigos; mas Deus escolhe nosso vizinho.261 Por isso, chega até nós coberto de todos os imprudentes pavores da natureza; é tão estranho quanto as estrelas, tão precipitado e indiferente quanto a chuva. Ele é o homem, o mais terrível dos animais. Por isso as antigas religiões e a antiga linguagem das Escrituras mostravam perspicácia e sabedoria quando falavam não da obrigação para com a humanidade, mas da obrigação para com o próximo. A obrigação para com a humanidade pode, muitas vezes, tomar a forma de alguma escolha que é pessoal ou mesmo agradável. Essa obrigação pode ser o passatempo predileto; pode até ser um desperdício. Podemos trabalhar no East End262 porque somos particularmente talhados para este trabalho, ou porque pensamos ser. Podemos lutar pela causa da paz internacional porque gostamos de lutar. O mais monstruoso martírio, a mais repulsiva experiência, pode resultar de uma escolha ou de uma espécie de gosto. Podemos ter o feitio de gostar especialmente de lunáticos ou ter particular interesse pela lepra. Podemos amar os negros por serem pretos ou os alemães socialistas por serem pedantes. Mas temos de amar o próximo porque está aí – uma razão muito mais alarmante para uma atividade muito mais séria. É um espécime da humanidade que verdadeiramente nos é dado. Justamente porque pode ser qualquer pessoa, ele é toda pessoa. É um símbolo porque é um acidente.
Sem dúvida, os homens fogem de ambientes pequenos para terras muito fatais. Mas isso é muito natural; pois não fogem da morte. Fogem da vida. E este princípio se aplica às várias esferas do sistema social da humanidade. É perfeitamente normal que os homens busquem por uma determinada variedade do tipo humano, contanto que busquem por aquela variedade de tipo humano, e não por mera variedade humana. É muito conveniente que um diplomata inglês deva procurar a sociedade dos generais japoneses, se o que quer são generais japoneses. Mas, se o que quer são pessoas diferentes dele, ganharia muito mais se ficasse em casa e discutisse religião com a empregada. É bastante razoável que o rapaz genial do vilarejo ascenda e conquiste Londres, se o que quer é conquistar Londres. Mas, se quiser conquistar algo fundamental, simbolicamente hostil e também muito consistente, ganhará muito mais caso permaneça onde está e tenha uma altercação com o reitor. O homem numa rua de subúrbio age muito acertadamente caso vá à Ramsgate263 por causa de Ramsgate – algo difícil de imaginar. Mas, como se diz, se vai a Ramsgate “para uma mudança de ares”, então poderá ter uma mudança muito mais romântica, e até melodramática, caso pule o muro e vá parar direto no quintal do vizinho. As conseqüências serão mais instigantes, muito além das saudáveis possibilidades de Ramsgate.
Ora, exatamente da forma como esse princípio se aplica ao império, à nação dentro do império, à cidade dentro da nação, à rua dentro da cidade, da mesma forma o princípio é aplicado à casa na própria rua. A instituição da família merece ser louvada exatamente pelas mesmas razões por que a instituição de uma nação ou a instituição de uma cidade merecem ser louvadas. É bom para um homem viver numa família pelo mesmo motivo pelo qual é bom para um homem estar envolto por uma cidade. É bom para um homem viver numa família no mesmo sentido em que é belo e agradável para um homem ficar preso na rua pela neve. Isso tudo o força a perceber que a vida não é uma coisa exterior, mas algo interior. Acima de tudo, todos insistem em dizer que a vida, se é uma vida estimulante e fascinante, é algo que, pela própria natureza, existe a despeito de nós mesmos. Os modernos escritores ao sugerir, de forma mais ou menos clara, que a família é uma instituição má, limitam-se a dizer, com muita perspicácia, mordacidade ou pathos, que a família nem sempre é muito agradável. É claro que a família é uma boa instituição porque é desagradável. É saudável exatamente porque contém inúmeras divergências e diversidades. É, como dizem os sentimentais, como um pequeno reino, e, como a maioria dos pequenos reinos, em geral está num estado que lembra a anarquia. Exatamente porque nosso irmão George não está interessado em nossas dificuldades religiosas, e sim no restaurante Trocadero,264 é que a família tem algo das qualidades estimulantes de uma comunidade. Precisamente porque nosso tio Henry não aprova as ambições teatrais de nossa irmã Sarah é que a família se assemelha à humanidade. Os homens e mulheres que, por boas ou más razões, se revoltam com a família se revoltam, simplesmente, com a raça humana. Tia Elizabeth é imoderada, como a humanidade. Papai é emotivo, como a humanidade. Nosso irmão mais novo é levado, como a humanidade. Vovô é obtuso, como o mundo; é velho, como o mundo.
Aqueles que desejam, com ou sem razão, sair de tudo isso, definitivamente desejam entrar num mundo mais limitado. Estão consternados e aterrorizados com a extensão e variedade da família. Sarah deseja encontrar um mundo apenas de apresentações teatrais; George deseja pensar no Trocadero como um cosmo. Não digo, no momento, que a fuga para essa vida mais restrita não seja melhor que a fuga para um monastério. Digo, sim, que é mau e artificial tudo o que tende a fazer as pessoas sucumbirem à estranha ilusão de que estão entrando num mundo realmente mais amplo e diverso do que o próprio mundo. A melhor forma de alguém testar a própria boa vontade em encontrar a diversidade comum da humanidade seria descer pela chaminé de qualquer casa escolhida ao acaso, e tentar se relacionar, da melhor forma possível, com as pessoas que encontrar. E foi isso, em essência, que cada um de nós fez no dia em que nasceu.
Isto é, de fato, a novela especial e sublime da família. É romântica porque é um jogo de azar. É romântica porque é tudo de que os inimigos a acusam. É romântica porque é arbitrária. É romântica porque está aí. Enquanto grupos de homens fizerem escolhas racionais, sempre haverá certo ambiente especial e sectário. Somente quando temos grupos de homens escolhidos irracionalmente é que temos homens. O elemento de aventura começa a existir; pois uma aventura é, por natureza, algo que vem ao nosso encontro. É algo que nos escolhe, não uma coisa que escolhemos. Apaixonar-se é muitas vezes considerada a suprema aventura, o acidente romântico último. Isto é verdade na medida em que há algo que nos é externo, algo parecido com um alegre fatalismo. O amor nos toma, transfigura e tortura; penetra-nos o coração com insuportável beleza, como a insuportável beleza da música. No entanto, uma vez que nos liguemos à questão; uma vez que estejamos, de alguma forma, preparados para nos apaixonar e, num dado sentido, nos lançarmos nisso; uma vez que, de certa forma, escolhamos ou até julguemos – em tudo isso apaixonar-se não é verdadeiramente romântico, não é absolutamente aventuroso. Neste grau, a aventura suprema não é se apaixonar. A aventura suprema é ter nascido. Aí entramos, de repente, numa armadilha esplêndida e surpreendente. Aí vemos algo com que jamais sonháramos. Os pais ficam realmente à espreita e caem sobre nós, como salteadores escondidos atrás da moita. Nosso tio é uma surpresa. A tia é, como diz a expressão comum, caída do Céu. Quando entramos numa família, por termos nascido, entramos num mundo incalculável, num mundo que tem leis próprias e estranhas, num mundo que poderia existir sem a nossa presença, um mundo que não criamos. Noutras palavras, quando passamos a fazer parte de uma família, adentramos num conto de fadas.
O aspecto de narrativa fantástica deve se unir à família e às relações que com ela manteremos por toda a vida. Romance é a coisa mais difícil de entender na vida; o romance é ainda mais profundo que a realidade. Pois, mesmo que a realidade se mostre enganosa, todavia não pode ser comprovada sua pouca importância ou inexpressividade. Mesmo se os fatos forem falsos, ainda serão muito estranhos. E a estranheza da vida, esse elemento inesperado e até perverso das coisas ao ocorrer, permanece irremediavelmente interessante. As circunstâncias que podemos controlar podem se tornar tratáveis ou pessimistas; mas as “circunstâncias sobre as quais não temos controle” permanecem divinas para aqueles que, como o Sr Micawber,265 podem invocá-las e renovar as forças. As pessoas se perguntam por que o romance é a forma mais popular de literatura; perguntam por que o romance é mais lido que livros de ciência ou de metafísica. A razão é muito simples: é meramente porque o romance é mais verdadeiro que os demais livros. A vida pode, às vezes, parecer justamente com um livro de ciência. Pode às vezes parecer, e com maior justiça, com um livro de metafísica. Mas a vida é sempre um romance. Nossa existência pode deixar de ser uma canção; pode deixar de ser um belo lamento. Nossa existência pode não ser uma justiça inteligível, ou mesmo um erro reconhecível. Mas nossa existência ainda é uma história. No ígneo alfabeto de cada pôr-do-sol está escrito: “continua no próximo capítulo”. Caso tenhamos intelecto suficiente, conseguiremos completar uma dedução filosófica e exata, e estaremos certos de que a completamos corretamente. Com suficiente capacidade intelectual conseguiremos terminar uma descoberta científica e estaremos certos de que a terminamos corretamente. Contudo, nem com o mais gigantesco intelecto conseguiremos terminar a mais simples e tola história, e estar certos de que a terminamos corretamente. A razão é que uma história carrega consigo não simplesmente um intelecto parcialmente mecânico, mas uma vontade, que é, em essência, divina. O escritor da narrativa pode mandar seu herói para o patíbulo, no penúltimo capítulo, se quiser. Pode fazer isso pelo mesmo capricho divino com o que ele, o autor, poderá ir para a forca, e depois para o inferno, se quiser. E a mesma civilização, a cavalheiresca civilização européia que afirmava o livre-arbítrio no século XIII, produziu uma coisa chamada “ficção” no XVIII. Quando Santo Tomás de Aquino afirmou a liberdade espiritual do homem, criou todos os romances ruins que circulam nas bibliotecas.
Mas, para que a família nos seja uma história ou romance, é necessário que grande parte dela, de qualquer maneira, seja determinada sem nossa anuência. Caso desejemos que a vida seja um sistema, ela pode vir a ser um problema; mas caso desejemos que a vida seja um drama, ela se torna algo essencial. Amiúde pode acontecer, sem dúvida, que um drama possa ser escrito por alguém de quem pouco gostamos. Mas gostaríamos bem menos se o autor se aproximasse perante as cortinas, a cada hora, e nos impusesse a dificuldade de inventar o próximo ato. O homem tem o controle de muitas coisas na vida; tem o controle sobre um número suficiente de coisas para ser o herói de um romance. Todavia, caso tivesse controle sobre todas as coisas, seria tão herói que não haveria romance. E a razão por que a vida dos ricos é no fundo tão enfadonha e monótona é simplesmente por poderem escolher os acontecimentos. É tediosa porque são onipotentes. Não percebem as aventuras porque as fabricam. A coisa que mantém a vida romântica e plena de ardentes possibilidades é a existência de grandes limitações naturais que nos forçam a enfrentar as coisas das quais não gostamos ou pelas quais não esperamos. É inútil falar para os altivos modernos a respeito de permanecer em ambientes hostis. Estar num romance é estar num ambiente hostil. Nascer nesta Terra é nascer num ambiente hostil, portanto é nascer num romance. De todas as limitações e estruturas que moldam e criam poesia e variedade na vida, a família é a mais exata e a mais importante. Portanto, é mal-interpretada pelos modernos, que imaginam o romance existir de modo mais perfeito num estado pleno daquilo que entendem por liberdade. Acreditam que se um homem gesticula, isso é algo tão romântico e sensacional que o sol deva cair do céu. No entanto, o que é romântico e surpreendente a respeito o sol é ele não cair do céu. Buscam, de todas as formas, um mundo onde não haja nenhuma limitação – isto é, um mundo onde não existam contornos; isto é, um mundo que não possui formas. Não há nada mais vil que esse infinito. Dizem desejar ser tão fortes quanto o universo, mas realmente desejam que todo o universo seja tão fraco quanto eles mesmos.
256 Outro nome da cidade de Esparta, que produziu conquistadores e governantes militares, mas nunca líderes intelectuais e culturais.
257 Tecido de lã axadrezado cujos diferentes padrões identificam os clãs escoceses.
258 Lúcio Licínio Lúculo (118 a.C.–56 a.C.) foi um importante político e general da República Romana. Comandou legiões, antes de Pompeu, na Terceira Guerra Mitridática e, ao regressar, ficou célebre por levar uma vida exuberante e licenciosa.
259 A expressão “ir para Margate” significava para os contemporâneos de Chesterton “nadar para melhorar a saúde”. Margate é uma sofisticada cidade de veraneio inglesa, localizada no estuário do rio Tâmisa cerca de 120 quilômetros ao sudeste de Londres.
260 Subúrbio de Londres ao sul do rio Tâmisa que na época vitoriana sofreu forte expansão imobiliária residencial.
261 A palavra neighbour, em inglês, significa tanto o confinante, o vizinho ao lado da casa, como o próximo, o semelhante. Chesterton utiliza tal palavra, ao longo de todo o capítulo, em duplo sentido.
262 Área que fica ao leste de Londres, fora das muralhas medievais da cidade. Durante o século XIX a área foi povoada por pessoas pobres e imigrantes, tornando-se sinônimo de pobreza, criminalidade e doença.
263 Uma das grandes cidades costeiras da Inglaterra, localizada no distrito de Thanet, a oeste do condado de Kent. No século XIX, recebeu o principal e mais moderno porto do país e a cidade se tornou um importante lugar de veraneio.
264 Famoso e elegante restaurante inaugurado em 1896, na esquina da Shaftsbury Avenue com Windmill Street, perto dos teatros do West End e próximo ao Picadilly Circus, em Londres. Fechou em 1965 e o espaço foi convertido em shopping center, com o nome de London Trocadero.
265 Personagem do romance David Copperfield (1850) de Charles Dickens (1812–1870). Baseada no pai do autor, Wilkins Micawber, sempre esperava um futuro melhor, apesar das circunstâncias. É incauto, porém adorável, e acaba por se tornar juiz colonial.
CAPÍTULO XV
Os escritores espirituosos
e a alta sociedade
DE CERTO MODO, ao menos é melhor ler a má que a boa literatura. A boa literatura pode nos revelar a inteligência de um homem; mas a má literatura nos mostra a inteligência de muitos homens. Um bom romance nos diz a verdade sobre o herói; mas um romance ruim nos diz a verdade sobre o autor. Faz mais que isso, nos diz a verdade sobre os leitores e, por estranho que pareça, tanto mais nos diz quanto mais cínico e imoral for o motivo de sua elaboração. Quanto mais desonesto for um livro, mais honesto o é como documento público. O romance sincero apresenta a simplicidade de um determinado homem; o romance insincero mostra a simplicidade da humanidade. As decisões pedantes e os justificáveis reajustamentos do homem podem ser encontrados em pergaminhos, em diplomas legais e nas Escrituras; mas as pretensões básicas e as eternas atividades dos homens devem ser encontradas nas formidáveis novelas populares. Assim, o que um homem, como muitos homens realmente cultos de nossos dias, pode aprender com a boa literatura não é nada além da capacidade de apreciar a boa literatura. No entanto, com a má literatura pode aprender a governar impérios e a folhear o mapa da humanidade.
Há um exemplo assaz interessante deste estado de coisas em que a literatura mais fraca é realmente a mais forte e a mais forte, a mais fraca. É o que podemos chamar, numa descrição aproximada, de literatura da aristocracia; ou, se preferirmos, de literatura do esnobismo. Ora, se alguém quiser encontrar um argumento realmente eficaz, abrangente e eterno em prol da aristocracia, apresentado de maneira correta e sincera, leia não os modernos filósofos conservadores, nem mesmo Nietzsche; leia as Bow Bells Novelettes.266 No caso de Nietzsche, tenho de confessar minhas dúvidas. Nietzsche e as Bow Bells Novelettes têm obviamente as mesmas características. Ambos adoram homens altos, de bigodes retorcidos e corpos hercúleos, e ambos os adoram de uma maneira um tanto feminina e histérica. Mesmo aqui, contudo, a novela facilmente mantém a superioridade filosófica, porque atribui ao homem forte virtudes que comumente lhe pertencem, tais como indolência, brandura, uma benevolência um tanto imprudente e uma grande aversão em ferir o mais fraco. Nietzsche, ao contrário, atribui ao homem forte aquele desprezo à fraqueza que existe somente entre inválidos. Todavia, não são os méritos secundários do grande filósofo alemão, mas sim os méritos primários das Bow Bells Novelletes o presente objeto de análise. O quadro da aristocracia pintado pela historieta sentimental me parece muito satisfatório como um guia político-filosófico estável. Pode ser impreciso em detalhes com relação ao modo como devemos nos dirigir ao baronete, ou a respeito de qual é a largura que o baronete pode, com facilidade, saltar por sobre um abismo. No entanto, não é uma descrição ruim das idéias e das intenções gerais da aristocracia, de como ela realmente é nos costumes dos homens. O principal sonho da aristocracia é ter pompa e bravura; e se o Family Herald Supplement267 por vezes distorce ou exagera tais coisas, ao menos não fica aquém. Nunca se engana ao criar um abismo por demais estreito ou um título nobiliárquico pouco impressionante. Mas, além dessa saudável e antiga literatura do esnobismo, surgiu em nossa época outro tipo de literatura afetada que, com pretensões muito mais elevadas, me parece merecer muito menos respeito. Acidentalmente (se é que isso importa), é uma literatura muito melhor; porém, possui uma filosofia infinitamente pior, uma ética e uma política imensamente piores, uma versão danosa, imensuravelmente pior, do que realmente são a aristocracia e a humanidade. Nos livros aos quais agora desejo me referir, podemos descobrir o que um homem inteligente é capaz de fazer com a idéia de aristocracia. Contudo, da literatura do Family Herald Supplement podemos aprender o que a idéia de aristocracia é capaz de fazer com um homem não muito inteligente. E quando compreendemos isso, passamos a entender a história da Inglaterra.
Essa nova ficção aristocrática deve ter chamado atenção de todos que leram o melhor da ficção nos últimos quinze anos. É essa, genuína ou suposta, literatura da alta roda que representa o referido grupo como ilustre, não só pelos trajes elegantes, mas por ditos espirituosos. Ao baronete mau, ao baronete bom, ao nobre romântico e incompreendido – que é supostamente um baronete mau, mas que na verdade é um baronete bom – tal escola acrescentou um conceito outrora inimaginável: a noção do nobre divertido. O aristocrata não deve ser simplesmente o mais alto, o mais forte ou o mais bonito dos homens mortais; deve ser o mais espirituoso. É o homem tardio com a sátira breve. Muitos escritores modernos, notáveis e merecidamente ilustres devem aceitar certa responsabilidade por ter apoiado a pior forma de esnobismo – o esnobismo intelectual. O talentoso autor de Dodo268 é responsável por ter, em certo sentido, inventado o estilo como modismo. O Sr Hichens, em Green Carnation,269 reafirma a estranha idéia de que jovens nobres falam bem, embora o caso tenha uma vaga conexão biográfica e, portanto, encerre uma justificativa. A Sra Craigie270 tem considerável culpa, apesar de, ou justamente por, ter combinado a atmosfera aristocrática com notas de sinceridade moral e até religiosa. Ao salvar a alma de um homem, mesmo num romance, é indecente mencionar que seja um cavalheiro. Tampouco podemos isentar de culpa, nesse assunto, um homem de capacidade superior, um homem que já provou possuir o mais elevado dos instintos humanos – refiro-me ao Sr Anthony Hope.271 Num galopante e impossível melodrama como O Prisioneiro de Zenda,272 o sangue dos reis criou uma excelente e fantástica trama ou temática. Mas o sangue dos reis não é uma coisa que possa ser levada a sério. E quando, por exemplo, o Sr Hope dedica um estudo demasiado sério e indulgente ao homem chamado Tristram de Blent,273 um homem que ao longo de uma infância ansiosa não pensou em nada a não ser numa tola e antiga propriedade rural, sentimos, mesmo no Sr Hope, um sinal da excessiva preocupação com a idéia oligárquica. É difícil para qualquer pessoa comum ficar muito interessada por um jovem cujo único objetivo é possuir a casa de Blent, num período da vida em que todos os outros jovens estão tendo nas mãos as estrelas.
O Sr Hope, contudo, é um caso brando, e nele há não só o elemento de romance; há também um refinado elemento de ironia que alerta para não tomarmos muito a sério toda essa elegância. Acima de tudo, demonstra sensatez em não munir de forma inacreditável seu nobre com tiradas de improviso. O hábito de insistir na presença de espírito, argúcia e humor das classes abastadas é o derradeiro e mais servil de todos os servilismos. É, como já disse, infinitamente mais desprezível que o esnobismo da novela que descreve o sorriso apolíneo de um nobre ou o faz montar num elefante descontrolado. Podem ser exageros de beleza e coragem, mas beleza e coragem são ideais inconscientes dos aristocratas, mesmo dos aristocratas estúpidos.
O nobre do folhetim pode não ser caracterizado com grande atenção e escrúpulos no que concerne aos hábitos diários dos fidalgos. Mas ele é mais importante que a realidade; é um ideal prático. O gentil-homem da ficção pode não ser o cavalheiro da vida real; mas o aristocrata da vida real copia o cavalheiro da ficção. Pode não ser particularmente bonito, mas preferiria sê-lo, mais que qualquer outra coisa; pode não ter montado num elefante descontrolado, mas cavalga um pônei, tanto quanto possível, como se estivesse no elefante. E, tudo por tudo, a classe alta não deseja apenas e principalmente as qualidades de beleza e coragem; contudo, em certo grau e de alguma forma especial, as possui. Assim, não há nada de realmente maldoso ou adulador na literatura popular que imagina todas as marquesas com uns dois metros de altura. É esnobe, mas não servil. São exageros baseados numa admiração abundante e honesta; a admiração honesta tem por base algo que, em certo grau e de alguma forma, realmente existe. Na Inglaterra, as classes mais humildes não temem nem um pouco as classes superiores. Elas as adoram simples, livre e sentimentalmente. A força da aristocracia não está, em absoluto, na aristocracia; está nos bairros pobres. Não está na Câmara dos Lordes, mas no funcionalismo público; não está nos gabinetes do governo; não está nem mesmo no enorme e desproporcional monopólio das terras inglesas. Está no fato de um trabalhador braçal, ao querer elogiar alguém, ter de pronto a idéia de dizer que tal pessoa se comportou como um cavalheiro. Do ponto de vista democrático poderia, igualmente, dizer que se comportou como um visconde. O cunho oligárquico da moderna comunidade inglesa não repousa, como em muitas oligarquias, na crueldade do rico para com o pobre. Nem mesmo tem por base a bondade do rico em relação ao pobre. Baseia-se na perene e infalível bondade do pobre para com o rico.
O esnobismo da má literatura, nessa altura, não é servil; mas o esnobismo da boa literatura é servil. O antiquado folhetim barato em que as duquesas cintilavam com diamantes não é adulador; mas o novo romance em que as fidalgas cintilam com epigramas é subserviente, pois, ao atribuir às classes superiores um especial e surpreendente nível intelectual, além de uma capacidade de conversação e controvérsia, estamos lhes atribuindo algo que não é nem particularmente uma virtude nem o objetivo delas. Estamos, nas palavras de Disraeli274 (que, sendo gênio e não cavalheiro, talvez tenha antes de responder pela introdução desse método de adular a pequena nobreza), executando a função essencial da lisonja, que consiste em elogiar as pessoas por qualidades que não possuem. O elogio pode ser colossal e insano sem ter qualquer qualidade de adulação, desde que seja um elogio a alguma coisa realmente visível. Um homem pode dizer que a cabeça de uma girafa toca as estrelas, ou que uma baleia ocupa o Mar da Alemanha,275 e ainda assim estar somente muito entusiasmado com seu animal favorito. No entanto, quando o mesmo homem começa a felicitar a girafa por suas plumas ou a baleia pela elegância das suas pernas, deparamo-nos com o elemento social a que chamamos lisonja. As classes médias e baixas de Londres podem sinceramente, embora talvez não sem perigo, admirar a saúde e a graça da aristocracia inglesa. E isso pela simples razão de que os aristocratas são, no geral, mais saudáveis e mais bem-educados que os pobres. Contudo, não podem, honestamente, admirar a argúcia e o senso de humor dos aristocratas. E isso pelo simples motivo de que os aristocratas não são mais perspicazes e nem mais bem-humorados que os pobres, são muitíssimo menos. Uma pessoa não ouve, como nas novelas modernas, as inspiradas pérolas verbais lançadas por diplomatas durante o jantar. Onde a pessoa realmente as ouve é na conversa entre dois motoristas de ônibus num quarteirão de Holborn.276 O lorde espirituoso, cujos improvisos inteligentes enchem as páginas da Sra Craigie ou da Srta Fowler,277 na realidade, será feito em pedacinhos na arte da conversação ao cair vítima do primeiro engraxate. Os pobres são apenas sentimentais, e de modo muito desculpável, caso elogiem o cavalheiro mão-aberta que está inclinado a dar o dinheiro que está no bolso. Mas, rigorosamente, são escravos e bajuladores, caso o elogiem por ter a língua afiada. Pois eles mesmos a têm muito mais.
No entanto, o elemento de sentimento oligárquico nesses folhetins, creio, tem outro aspecto mais sutil, um aspecto mais difícil de entender, porém de mais valiosa compreensão. O cavalheiro moderno, em especial o nobre inglês moderno, se tornou tão central e importante nesses livros e, por meio deles, em toda a literatura e no atual modo de pensar, que algumas das qualidades dos nobres, originais ou recentes, essenciais ou acidentais, alteraram a qualidade da comédia inglesa. Em particular, aquele ideal estóico, ridiculamente considerado como o ideal inglês, nos deixou mais formais e frios. Este não é o ideal inglês, mas de certa forma é o ideal aristocrático; ou pode ser apenas o ideal da aristocracia em declínio ou decadência. O cavalheiro é estóico porque é uma espécie de selvagem, porque está apoderado de um grande medo natural de que um estranho fale com ele. Por isso um vagão de terceira classe é uma comunidade e o de primeira classe é um lugar de eremitas selvagens. Mas, a respeito deste ponto, que é algo difícil, devo tratar, caso seja permitido, de uma forma mais indireta.
O elemento recorrente de ineficácia que permeia a maior parte da ficção espirituosa e epigramática em moda durante os últimos oito ou dez anos, e que perpassa os trabalhos de verdadeiro mas diverso talento como Dodo ou Concerning Isabel Carnaby,278 ou mesmo Some Emotions and a Moral,279 pode ser expresso de várias formas; contudo, para a maioria, acredito que acabará por atingir o mesmo fim. A nova frivolidade é inadequada porque não há nela nenhuma percepção consistente de um contentamento implícito. Os homens e as mulheres que trocam respostas prontas podem não estar somente odiando um ao outro, mas odiando a si mesmos. Qualquer um deles pode falir no mesmo dia, ou ser condenado ao pelotão de fuzilamento no dia seguinte. Estão gracejando, não porque estejam alegres, mas porque não estão; a boca fala daquilo de que está cheio o coração.280 Mesmo quando expressam uma pura tolice, é uma cuidadosa tolice – um absurdo que ocultam deliberadamente do conhecimento público, ou, para usar a perfeita expressão do Sr W.S. Gilbert281 em Patience,282 é um “precioso contra-senso”. Mesmo quando se tornam cabeças-leves, não têm leveza no coração. Todos aqueles que leram algo do racionalismo dos modernos sabem que a razão deles é uma coisa triste. Mas até a irracionalidade deles é triste.
As causas de tal incapacidade também não são muito difíceis de indicar. A primeira delas é, evidentemente, o infeliz medo de ser sentimental, que é o mais desprezível dos modernos terrores – ainda mais vil que o terror que gera a ciência sanitária. Em toda parte, o humor sadio e estrondoso surgiu de homens que foram capazes não só de ter sensibilidade, mas de ter uma sensibilidade muito tola. Não há humor mais sadio e barulhento que o do sensível Steele,283 ou o do sentimental Sterne, ou o do sensível Dickens. É verdade que o humor de Micawber é boa literatura e o pathos da pequena Nell284 é má literatura. Mas o tipo de homem que teve coragem de escrever tão mal neste caso é o tipo de homem que teve a coragem de escrever muito bem naquele. A mesma inconsciência, a mesma violenta inocência, a mesma gigantesca grandeza de ação que guiou o teatral Napoleão à sua Jena285 também o levou à sua Moscou.286 E aqui são especialmente apresentadas as limitações insípidas e medíocres das faculdades mentais dos escritores modernos. Fazem enormes esforços, heróicos e quase patéticos, mas realmente não conseguem escrever mal. Há momentos em que pensamos que estão perto de obter tal efeito, mas nossas esperanças se frustram no instante em que comparamos suas pequenas falhas às enormes imbecilidades de Byron ou Shakespeare.
Para o riso ser verdadeiro é necessário que toque o coração. Não sei por que a idéia de tocar o coração sempre deve estar ligada à idéia de tocá-lo por compaixão ou sofrimento. O coração pode ser tocado pela alegria e pelo triunfo; o coração pode ser tocado pelo divertimento. No entanto, todos os comediantes são trágicos. Os recentes escritores da moda são, no fundo, tão pessimistas que parecem nunca imaginar que o coração tenha de se ocupar do júbilo. Quando falam do coração, sempre descrevem angústias e decepções da vida emocional. Quando dizem “o coração de um homem está no lugar certo” porque a pessoa é bem-intencionada e generosa, na verdade querem dizer, aparentemente, que ela está morrendo de medo, como se dissessem que tem o coração nas botas.287 Nossas sociedades éticas entendem o companheirismo, mas não entendem uma boa companhia. Da mesma forma, nossa inteligência viva entende o significado de conversa, mas não o que Dr Johnson288 chamaria de uma boa conversa. Para ter, assim como o Dr Johnson, uma boa conversa, é absolutamente necessário ser, assim como o Dr Johnson, um homem bom – ter amizade, honra e uma enorme ternura. Acima de tudo, é necessário ser aberta e desavergonhadamente humano, confessar integralmente todas as principais desvantagens e os temores de Adão. Johnson era lúcido e bem-humorado e, portanto, não se importava de conversar seriamente sobre religião. Johnson era um homem bravo, um dos homens mais corajosos que já houve na face da Terra, e, portanto, não se importava de confessar abertamente para qualquer um seu profundo medo da morte.
A idéia de que há algo inglês na repressão dos sentimentos é uma daquelas idéias que nenhum inglês jamais ouviu falar antes de a Inglaterra começar a ser governada exclusivamente por escoceses, americanos e judeus. Na melhor das hipóteses, a idéia é uma generalização do duque de Wellington289 – que era irlandês. Na pior das hipóteses, é parte daquele tolo teutonismo que conhece tão pouco da Inglaterra quanto de antropologia, mas que sempre fala sobre os vikings. De fato, os vikings não reprimiam de modo algum os sentimentos. Choravam como bebês e se beijavam como garotas; em suma, agiam como Aquiles290 e todos os heróis vigorosos, filhos dos deuses. E embora a nacionalidade inglesa, provavelmente, não tenha muito mais relação com os vikings do que a francesa ou a irlandesa, os ingleses são filhos dos vikings nas lágrimas e nos beijos. Não só é verdade que todos os literatos ingleses mais típicos, como Shakespeare, Dickens, Richardson291 e Thackeray eram sentimentalistas. Também é verdade que todos os homens de ação mais tipicamente ingleses eram sentimentalistas, se possível, muito mais sentimentais. Na grande era elizabetana, quando a nação inglesa foi, por fim, forjada; no grande século XVIII, quando o Império Britânico se ergueu em toda parte, onde durante todo esse tempo, onde estava o simbólico inglês estóico que veste negros tecidos de lã e reprime os sentimentos? Será que todos os paladinos e piratas elizabetanos eram assim? Será que Grenville292 estaria ocultando as emoções ao estilhaçar taças de vinho com os dentes e as morder até que o sangue escorresse? Estaria Essex293 contendo a emoção quando lançou seu chapéu ao mar? Será que Raleigh achou que fosse sentimental responder às armas espanholas apenas, como diz Stevenson, com uma “fanfarra de ultrajantes trompas”?294 Será que Sidney perdeu, ainda que por uma única vez, a oportunidade de fazer um comentário teatral ao longo da vida e da morte?295 Será que os puritanos eram mesmo estóicos? Os puritanos ingleses reprimiram muitas coisas, mas eram excessivamente ingleses para reprimir os sentimentos. Seguramente foi por um grande milagre de gênio que Carlyle conseguiu reverenciar ao mesmo tempo duas coisas tão irreconciliavelmente opostas quanto o silêncio e Oliver Cromwell.296 Cromwell foi o exato oposto de um homem forte e taciturno. Cromwell falava todo o tempo, quando não estava gritando. Ninguém, suponho, acusará o autor de Graça Abundante297 de se envergonhar dos sentimentos. Milton, decerto, pode ser representado como um estóico; e em certo sentido era tão estóico quanto era vaidoso, polígamo e várias outras coisas desagradáveis e pagãs. Mas ao ir além desse grande e solitário nome, que pode ser considerado exceção, retomamos a contínua e inquebrantável tradição do sentimentalismo inglês. Qualquer que tenha sido a beleza moral das paixões de Etheridge e Dorset, Sedley e Buckingham,298 não podem ser acusados do erro de obstinadamente as esconder. Charles II era muito popular entre os ingleses porque, como todos os alegres reis ingleses, demonstrava suas paixões. Guilherme, o holandês,299 era muito impopular entre os ingleses porque, não sendo inglês, ocultava suas paixões. Era, de fato, o perfeito inglês ideal de nossa moderna teoria; e, precisamente por essa razão, todos os ingleses de verdade o repugnavam como a lepra. Na ascensão da grande Inglaterra do século XVIII, ainda encontramos esse tom aberto e emocional nas cartas e na política, nas artes e nas armas. Talvez a única qualidade em comum do grande Fielding300 e do grande Richardson301 fosse nenhum dos dois ocultar as emoções. Swift,302 de fato, era severo e lógico, porque Swift era irlandês. E quando passamos aos soldados e governantes, aos patriotas e construtores do império do século XVIII, descobrimos, como disse e como se isso fosse possível, que eram ainda mais românticos que os romancistas e mais poéticos que os poetas. Chatham,303 que mostrou ao mundo toda a sua força, expôs à Câmara dos Comuns toda a sua fraqueza. Wolfe304 andou para lá e para cá com a espada em punho, autoproclamando-se César e Aníbal, e caminhou para a morte com poesia nos lábios.305 Clive306 foi um homem do mesmo tipo de Cromwell ou Bunyan, ou, nesse caso, como Johnson – isto é, um homem forte e sensível, em quem jorra uma fonte contínua de histeria e melancolia. Como Johnson, era mais saudável porque era mórbido. As lendas de todos os almirantes e aventureiros dessa Inglaterra estão cheias de fanfarronice, de sentimentalismo, de esplêndida afetação. Todavia é desnecessário multiplicar os exemplos do inglês essencialmente romântico quando um deles se eleva acima dos demais. O Sr Rudyard Kipling disse, enfatuado, a respeito do inglês: “Não abraçamos e beijamos quando nos encontramos”. É verdade que esse costume antigo e universal desapareceu com o moderno enfraquecimento da Inglaterra. Sidney não acharia nada de mais beijar Spencer.307 Sinceramente admito que o Sr Broderick308 provavelmente não beijaria o Sr Arnold-Foster309 se é que isso é prova da virilidade e da grandeza militar da Inglaterra. Mas o inglês que não demonstra os próprios sentimentos não desistiu totalmente do poder de perceber algo inglês no grande herói naval da guerra napoleônica. A lenda de Nelson é inquebrantável. E no poente da tal glória está escrito em letras flamejantes, para todo o sempre, a grande emoção inglesa: “Beije-me, Hardy”.310
Esse ideal de auto-repressão, seja o que for, não é inglês. Talvez seja algo oriental, ou algo um tanto prussiano, mas em grande parte não vem, creio, de nenhuma fonte racial ou nacional. É, como já disse, em certo sentido, aristocrático; não vem do povo, mas de uma classe. Mesmo a aristocracia não era tão estóica nos tempos em que era realmente forte. Mas, seja esse ideal fleumático uma genuína tradição do cavalheiro, ou apenas uma das invenções do moderno gentil-homem (que pode ser chamado de aristocrata decadente), por certo, tem relação com a imperturbável qualidade dos romances de sociedade. A partir da representação dos aristocratas como pessoas que reprimem os sentimentos, foi uma etapa natural passar a representá-los como pessoas que não tinham quaisquer sentimentos a reprimir. Assim, o moderno oligarca fez da dureza e brilho do diamante uma virtude para sua classe. Como um poeta que por sonetos se dirigia à sua dama no século XVII, o nobre parece usar a palavra “frio” como se fosse uma elegia, e a palavra “insensível” como uma espécie de elogio. Em pessoas tão afáveis e inocentes como são ingleses bem-nascidos, certamente seria muito difícil criar algo que pudesse ser chamado de crueldade positiva; então, nesses livros, exibem uma espécie de crueldade negativa. Não podendo ser cruéis em atos, o são em palavras. Tudo isso significa apenas uma única coisa: significa que o ideal de vigor da Inglaterra deve ser procurado nas massas; deve ser procurado onde Dickens o encontrou – Dickens, entre cujas glórias estão as de ter sido um humorista, um sentimental, um otimista, um homem pobre, um inglês. Contudo, a maior de todas as glórias foi ver a humanidade em sua exuberância maravilhosa e tropical, sem sequer notar a existência da aristocracia; Dickens, cuja maior glória foi não ter conseguido descrever um cavalheiro.
266 Bow Bells Novelettes era mais uma publicação barata lançada por John Dicks (1818–1881) com base no sucesso do semanário Bow Bells Magazine (1862–1897). As Novelettes eram uma série de histórias curtas, melodramáticas, sensacionalistas, dirigidas especialmente às mulheres da baixa classe média da Inglaterra vitoriana.
267 A Family Herald (1842–1940) foi uma das revistas semanais de variedades mais populares da Inglaterra no século XIX. A revista tinha o curioso e informativo subtítulo: Useful Information and Amusement for the Million [informações úteis e diversão para milhões de pessoas] e foi a primeira publicação totalmente composta, impressa e costurada por máquinas. Custava um penny e trazia contos curtos e seriados, bem como poemas, biografias, colunas semanais e anúncios. Em 1877, começou a publicar as novelettes como suplemento, vendidos separadamente por um penny adicional, duas vezes ao mês.
268 Dodo: A Detail of the Day foi o primeiro romance escrito, em 1893, por Edward Frederick Benson (1867–1940). Elegante, mas bastante controverso na época, foi criticado por ser “Um festim de epigramas e paradoxos”.
269 Green Carnation do jornalista e romancista inglês Robert Smyth Hichens (1864–1950). Surgiu, pela primeira vez, como um romance anônimo e satírico, pois as personagens principais se assemelhavam à escandalosa dupla: Oscar Wilde (1854–1900) e lorde Alfred Douglas (1870–1945), o “Bosie”. O livro, que tinha por título o adereço dos homossexuais vitorianos popularizado por Wilde, foi tirado de circulação em 1895 e republicado somente em 2006.
270 Pearl Mary Teresa Richards Craigie (1867–1906), escritora americana educada na Inglaterra que escreveu vários romances satíricos sob a alcunha de John Oliver Hobbes. Converteu-se ao catolicismo em 1892.
271 Sir Anthony Hope Hawkins (1863–1933) foi um romancista e dramaturgo inglês. Advogado de formação, Hope tornou-se um prolífico escritor, principalmente de romances de aventura.
272 The Prisioner of Zenda, publicado em 1894, é a obra mais famosa de Anthony Hope. A aventura gira em torno da história do rei de um país ficcional chamado Ruritânia, seqüestrado pelos adversários na véspera da coroação. A situação política parece ficar remediada ao encontrarem um turista inglês que é um sósia do rei. A narrativa já foi adaptada diversas vezes para o teatro e para o cinema.
273 Obra de mesmo nome escrita por Anthony Hope, e publicada em 1901, cujo subtítulo é “An Episode in the Story of an Ancient House” [Um episódio na história de uma casa venerável].
274 Benjamin Disraeli (1804–1881) foi um escritor, político e primeiro-ministro britânico pelo Partido Conservador, conhecido por nutrir uma visão romântica da nobreza.
275 Antigo nome do mar Báltico situado no nordeste da Europa, circundado pela Península Escandinava, pela Europa Oriental e Central e pelas Ilhas Dinamarquesas.
276 Área central de Londres e também o nome de uma avenida que corta a cidade de leste a oeste.
277 Ellen Thorneycroft Fowler (1860–1929), poetisa e novelista inglesa cujas obras fizeram muito sucesso entre 1898 e 1904.
278 Concerning Isabel Carnaby [Acerca de Isabel Carnaby], livro de Ellen Thorneycroft Fowler, publicado em 1898.
279 Some Emotions and a Moral [Algumas Emoções e uma Moral], livro de John Oliver Hobbes, publicado em 1891, foi a primeira novela da Sra Craigie.
280 Lc 6, 45 ou Mt 12, 34. A tradução literal do trecho bíblico em inglês seria: “do vazio do coração, fala a boca”. Optamos substituir pela fórmula bíblica consagrada nas edições em português.
281 Sir William Schwenck Gilbert (1836–1911) foi um dramaturgo, libretista, poeta e ilustrador inglês. Tornou-se famoso pelas 14 óperas cômicas que escreveu e legou uma série de expressões para a língua inglesa.
282 Patience, or Bunthorne’s Bride, sexta ópera cômica cujo libretto foi escrito por W.S. Gilbert. Estreou em 1881. É uma sátira ao movimento esteta do final do século XIX, acusado de vazio e auto-referencial.
283 Richard Steele (1672–1729) foi um político e dramaturgo irlandês. Escreveu várias comédias de sucesso e editou duas revistas de ensaios criticando a afetação dos costumes de sua época.
284 A pequena Nell Trent é uma personagem do romance The Old Curiosity Shop (1841) de Charles Dickens. Era uma bela menina órfã, de uns treze anos, que morava com o avô materno numa loja de curiosidades. O avô é vítima de um perverso agiota e acaba na miséria. Nell é perseguida por inúmeros vilões, fica doente e acaba por falecer, deixando o avô desconsolado.
285 Local onde Napoleão derrotou, de forma esmagadora, os prussianos em 1806.
286 Referência à invasão frustrada das tropas francesas a Moscou, que acabou por fazer Napoleão sair da Rússia e tentar voltar para a França com um exército arrasado. Tal derrota francesa ficou imortalizada na literatura na obra Guerra e Paz (1865–1869) de Liev Tolstói (1828–1910).
287 Chesterton compara o sentido de duas expressões inglesas: “to have one’s heart in the right place” e “to have one’s heart in one’s boots”, cujos sentidos preferimos interpolar no próprio texto, assim como deixamos no texto a tradução literal das expressões.
288 Samuel Johnson (1709–1784) foi um poeta, ensaísta, moralista, crítico de literatura e lexicógrafo inglês que figura entre os maiores eruditos ingleses de todos os tempos. Sua vida foi relatada pelo amigo James Boswell (1740–1795) na obra The Life of Samuel Johnson, escrita em 1791.
289 Arthur Colley Wellesley (1769–1852), 1º Duque de Wellington, foi um marechal e político britânico, primeiro-ministro do Reino Unido por duas vezes. Descrito como o carrasco de Napoleão em Waterloo, era um homem grandalhão, aristocrático, arrogante, sem muita imaginação, mas resoluto e frio, um verdadeiro mestre na arte da defesa, além de ser a eminência parda da política inglesa do período.
290 Na mitologia grega foi um herói da Guerra de Tróia e principal guerreiro da Ilíada de Homero (século VIII a.C.).
291 Samuel Richardson (1689–1761), escritor e editor, contemporâneo do Dr Johnson, ficou mais conhecido por seus romances epistolares.
292 Richard Grenville (1542–1591), marinheiro, explorador e mercenário, foi avô de Sir Richard Grenville (1600–1658), figura de grande notoriedade na guerra civil inglesa. Na época em que fazia incursões nos Açores, por volta de 1591, foi relatado que, para provar bravura ao jantar com capitães espanhóis, costumava morder três ou quatro taças e engolir os pedaços de vidro, sem que isso lhe causasse maiores problemas, a não ser alguns ferimentos na boca.
293 Robert Devereux (1566–1601), 2º Duque de Essex, herói militar inglês no reinado de Elizabeth I e “favorito” da rainha. Em 1596, venceu a armada espanhola no porto de Cádiz. Nesta batalha, teria acontecido o incidente do chapéu descrito por Chesterton.
294 Sir Walter Alexander Raleigh (1552–1618), escritor, poeta, espião e explorador. Chesterton atribui erroneamente a passagem a Stevenson. Na verdade, tais palavras se encontram na biografia da rainha Elizabeth de Mandell Creighton (1843–1901), publicada em 1899. Conta o biógrafo que, no momento em que Raleigh entrou no porto de Cádiz, as fortalezas e a armada espanhola abriram fogo em sua direção. Imediatamente, em vez de responder a bala, desprezou os tiros e saudou os espanhóis com toques de trompa.
295 Sir Philip Sidney (1554–1586) foi poeta, cortesão e soldado. Foi uma das figuras mais proeminentes da era elizabetana. Introduziu na Inglaterra as idéias críticas dos teóricos do Renascimento e seu romance Arcádia, publicado em 1590, embora inacabado, é tido como uma das peças em prosa mais importantes do século XVI. Como as obras só foram conhecidas após a morte do autor, a observação de Chesterton faz sentido.
296 Na obra Letters and Speeches of Oliver Cromwell, Carlyle apresenta um retrato positivo de Cromwell, bem como advogava o “culto ao silêncio”, nome que deu à doutrina de restrição do discurso até seu total amadurecimento. Para Carlyle, o silêncio era o ventre das grandes coisas.
297 Referência a John Bunyan (1628–1688). A obra Grace Abounding to the Chief of Sinners, de 1666, é sua autobiografia espiritual.
298 Escritores espirituosos da época de Charles II (1630–1655), cuja corte era conhecida pelo espírito hedonista e jovial, em contraste com o anterior governo de Cromwell e dos puritanos. Tais autores eram partidários do rei e da Restauração. Entre os grandes nomes do teatro da Restauração estavam o comediógrafo Sir George Etherege (1635–1692), Sir Charles Sackville Dorset (1638–1706), 6º conde de Dorset, Sir Charles Sedley (1639–1701) e Sir George Villiers (1628–1687), 2º duque de Buckingham, todos farristas e libertinos.
299 Guilherme III (1650–1702) da Inglaterra (por nascimento, Príncipe de Orange), rei dos Países Baixos, que assumiu o trono da Inglaterra a pedido do Parlamento, depondo o rei católico Jaime II (1633–1701), que era seu tio e sogro.
300 Henry Fielding (1707–1754), romancista inglês famoso pela obra Tom Jones (1749) e tido como o inventor do romance inglês.
301 Samuel Richardson (1689–1761) foi um dono de gráfica e escritor muito admirado em sua época. Tornou-se rival de Fielding e ambos insultavam e respondiam aos insultos um do outro, ao criar paródias dos escritos do desafeto.
302 Jonathan Swift (1766–1745) foi um romancista irlandês criado desde pequeno na Inglaterra. Entre suas obras mais famosas temos As Viagens de Gulliver (1726) e a sátira mordaz sobre a situação da fome na Irlanda A Modest Proposal (1729).
303 William Pitt (1708–1778), o velho, 1º duque de Chatham, foi ministro da guerra durante a Guerra dos Sete Anos contra a França e primeiro ministro inglês entre 1766 e 1768.
304 General James Wolfe (1727–1759), militar inglês e ícone da vitória inglesa na Guerra dos Sete Anos. Escolhido por William Pitt (1708–1778), o velho, para liderar as forças inglesas em Quebec, venceu a França no Canadá e estabeleceu o domínio inglês naquele país.
305 Dizem alguns biógrafos que, um dia antes da mortal Batalha das Planícies de Abraão, Wolfe recitou para seus oficiais o poema de Thomas Gray (1716–1771) chamado Elegy Written in a Country Churchyard [Elegia escrita num cemitério de Igreja], composta em 1750.
306 General Robert Clive (1725–1774), 1º barão de Clive, militar que estabeleceu a supremacia militar e política da Companhia das Índias Orientais na Índia e em Bengala.
307 Edmund Spencer (1552–1599), poeta inglês que escreveu uma elegia sobre Philip Sidney (1554–1586). Considerado um dos poetas pioneiros do inglês moderno.
308 Chesterton acrescenta uma letra ao grafar o nome de William St John Fremantle Brodrick (1856–1942). St John Brodrick (posteriormente 1º conde de Midleton) foi um político do Partido Conservador e Secretário de Guerra de 1900 a 1903.
309 Hugh Oakeley Arnold-Foster (1855–1909) foi político, na época, filiado ao partido Liberal-unionista, e uma autoridade em questões militares e navais. Substituiu St John Brodrick na Secretaria de Guerra, permanecendo no cargo entre 1903 e 1905.
310 Palavras ditas pelo Almirante Nelson (1758–1805) ao então capitão Thomas Masterman Hardy (1769–1839), pouco antes de morrer, atingido no ombro e nos pulmões por uma bala na batalha de Trafalgar. Três testemunhas dão conta de que Nelson disse: “Cuide de minha querida senhora Hamilton, Hardy, cuide da pobre senhora Hamilton”. Depois de uma pausa continuou, com muita dificuldade: “Beije-me, Hardy”; o que Hardy fez, no rosto. Nelson perguntou: “Quem está aqui?” e, ao ouvir que era Hardy, disse: “Deus te abençoe, Hardy”. Por fim, Nelson disse: “Agora estou satisfeito. Graças a Deus, cumpri minhas obrigações”, murmurou mais algumas ordens. Com o pulso cada vez mais fraco, e antes de morrer, as últimas palavras foram: “Deus e meu país”.
CAPÍTULO XVI
O Sr McCabe e a divina futilidade
CERTA VEZ, um crítico objetou-me, com um ar de indignada razoabilidade: “Se queres fazer piadas, ao menos não as faça sobre assuntos sérios”. Respondi, com natural simplicidade e admiração: “Sobre quais outros assuntos, fora os sérios, podemos fazer piadas?” É totalmente inútil dizer pilhérias profanas. Toda anedota é, por natureza, blasfema, no sentido de que deve ser a percepção súbita de algo que se pensava solene e que, afinal, não é tão solene assim. Se uma piada não é uma piada sobre religião ou moral, é uma anedota sobre magistrados, professores de ciência ou universitários vestidos como a rainha Vitória. As pessoas fazem mais troça dos magistrados que do Papa, não porque os magistrados sejam um tema mais leviano, mas, ao contrário, porque os magistrados são um tema mais sério do que o Papa. O bispo de Roma não tem jurisdição no reino da Inglaterra; ao passo que os magistrados podem fazer toda a solenidade deles recair sobre nossos ombros. Os homens fazem mais piadas sobre velhos professores de ciência do que sobre bispos – não porque a ciência seja menos importante que a religião, mas porque a ciência é sempre, pela própria natureza, mais solene e austera que a religião. Não sou eu; não é nem mesmo uma determinada classe de jornalistas ou de bufões que faz piadas sobre questões que são terrivelmente sérias; é toda a raça humana. Se há uma coisa que até aqueles que têm um conhecimento mínimo do mundo admitirão é que os homens estão, por um lado, sempre falando solene e seriamente, com o maior cuidado, sobre coisas que não são importantes, embora sempre falem de forma banal sobre coisas importantes. Os homens falam por horas, como se estivessem diante de um colégio de cardeais, a respeito de coisas como golfe, tabaco, paletós e política partidária. No entanto, as coisas mais sérias e respeitáveis do mundo são, todas, as piadas mais antigas da face da Terra – casar-se, enforcar-se.
Contudo, um cavalheiro, o Sr McCabe, nesse particular, fez algo que quase foi um apelo pessoal; e como é um homem cuja sinceridade e virtude intelectual tenho em alta conta, não me sinto inclinado a deixá-lo sem, ao menos, tentar satisfazer tal crítico no tema. O Sr McCabe devota parte considerável do seu último ensaio na coleção intitulada Christianity and Rationalism on Trial311 a objetar, não à tese, mas ao meu método, e muito amigável e dignamente faz um apelo para que o altere. Estou inclinado a defender-me nesse particular por puro respeito ao Sr McCabe, e mais ainda por respeito à verdade que está, creio, em perigo pelo erro dele, não somente neste tópico, mas em outros. Para não haver nenhuma injustiça, citarei o que disse o próprio Sr McCabe:
Antes de dedicar-me em detalhes ao que disse o Sr Chesterton, gostaria de fazer uma observação geral sobre o seu método. Ele é tão sério quanto eu a respeito do significado supremo, e o respeito por isso. Sabe, como eu, que a humanidade está numa importante encruzilhada. Ao rumar para um fim desconhecido que a afligiu durante séculos, foi impelida por um desejo irresistível de felicidade. Hoje, hesita despreocupadamente, mas todo pensador sério sabe quão importante pode ser a decisão. Aparentemente, está deixando o caminho da religião e entrando no caminho do secularismo. Perder-se-á nos pântanos da sensualidade nalgum ponto do novo caminho, e em trabalhos e fadigas ao longo de anos de anarquia cívica e industrial, apenas para aprender que saíra do caminho e deve voltar à religião? Ou descobrirá, finalmente, que deixa para trás brumas e pântanos; que está subindo a trilha da montanha, cujo topo foi, por tanto tempo, indistintamente vislumbrado, e indo diretamente ao encontro da tão procurada utopia? Este é o drama de nosso tempo, e todo homem e toda mulher deve compreendê-lo.
O Sr Chesterton o compreende. Ademais, nos dá crédito por compreendermos isso. Não tem nada da reles mediocridade ou da estranha estupidez de tantos de seus colegas, que nos desprezam como iconoclastas sem propósito ou anarquistas morais. Reconhece que estamos travando uma guerra ingrata pelo que consideramos ser a verdade e o progresso. Ele faz o mesmo. Mas por que, em nome de tudo o que é razoável, ao concordarmos sobre a importância da questão, devemos imediatamente abandonar os métodos sérios de conduzir a controvérsia? Por que, quando a necessidade vital de nosso tempo é induzir os homens e mulheres, às vezes, a reunir os pensamentos, e ser homens e mulheres – não só isso, lembrar que são realmente deuses e carregam no colo os destinos da humanidade –, por que deveríamos pensar ser inoportuno esse jogo caleidoscópico de expressões? Os balés de Alhambra,312 os fogos de artifício do Palácio de Cristal313 e os artigos do Sr Chesterton no Daily News314 têm seus espaços na vida. Mas como pode um sério estudioso da sociedade pensar em eliminar a ausência de reflexão de nossa geração com paradoxos forçados; dar às pessoas uma saudável compreensão dos problemas sociais por meio de artifícios literários, ao propor questões importantes por meio de uma temerária chuva de metáforas em rojões, “fatos” imprecisos e a substituição da imaginação pela crítica, realmente não consigo entender.
Cito esta passagem com particular prazer, porque o Sr McCabe não poderia ter expressado mais francamente o crédito que dou a ele e à sua escola de pensamento pela total sinceridade e responsabilidade a respeito do propósito filosófico. Estou certo de que são totalmente sinceros em tudo o que dizem. Mas por que o Sr McCabe tem uma espécie de hesitação misteriosa para admitir a sinceridade de cada palavra que digo? Por que não está certo de minha responsabilidade intelectual, assim como eu estou da dele? Penso que, se tentarmos responder correta e diretamente, chegaremos ao cerne da questão pelo atalho mais curto.
O Sr McCabe pensa que não sou sério, mas somente engraçado, porque o Sr McCabe pensa que engraçado é o oposto de sério. Engraçado é o oposto de não-engraçado, e de nada mais. A questão de um homem se expressar por meio de uma fraseologia absurda e risível, ou por um fraseado imponente e comedido, não é uma questão de intenção ou de condição moral, é uma questão de linguagem instintiva ou de auto-expressão. Se a pessoa escolhe dizer a verdade por meio de sentenças longas ou anedotas curtas é um problema análogo a escolher dizer a verdade em francês ou em alemão. O fato de um homem pregar seu evangelho de forma absurda ou séria é simplesmente uma questão de pregá-lo em prosa ou em verso. A questão se Swift era engraçado ao ser irônico é uma questão totalmente diferente daquela em que perguntamos se Swift levava a sério o pessimismo. O Sr McCabe certamente não defenderia que quanto mais divertido é Gulliver no método, menos sincero consegue ser no objetivo. A verdade é que, como já disse, nesse ponto as duas qualidades “engraçado” e “sério” não têm nenhuma relação; são tão comparáveis quanto o são “preto” e “triangular”. O Sr Bernard Shaw é engraçado e sincero. O Sr George Robey315 é engraçado, mas insincero. O Sr McCabe é sincero, mas não é engraçado. Um ministro de governo, em geral, não é sincero nem engraçado.
Em suma, o Sr McCabe está sob a influência de uma falácia primária que vejo ser muito comum em homens do tipo clerical. Vários clérigos, de tempos em tempos, repreendem-me por fazer brincadeiras a respeito de religião, e quase sempre invocam a autoridade daquele mandamento muito sensato que diz: “Não tomar o santo nome de Deus em vão”.316 Chamo atenção, naturalmente, que não estou, de forma alguma, tomando o nome em vão. Tomar uma coisa e fazê-la anedota não é tomar em vão. É, ao contrário, tomá-la e usá-la para um fim particularmente bom. Usar uma coisa em vão significa usá-la de forma inútil. Mas um gracejo pode ser extraordinariamente útil; pode encerrar um sentido completamente terreno, sem mencionar um sentido completamente celestial da situação. E os que descobrem tal mandamento na Bíblia nela podem encontrar inúmeros gracejos. No mesmo livro em que o nome de Deus é protegido para não ser tomado em vão, o próprio Deus afunda Jó numa torrente de terríveis leviandades. O mesmo livro que diz que o nome de Deus não deve ser tomado em vão fala sossegada e descuidadamente sobre Deus dando risadas e piscando os olhos.317 Não é aqui evidentemente que devemos procurar exemplos genuínos do que significa um uso vão do nome. E não é muito difícil ver em que lugar devemos realmente buscá-los. Os indivíduos (como cuidadosamente os fiz ver) que tomam o nome do Senhor em vão são os próprios clérigos. O que é fundamental e realmente leviano não é uma descuidada anedota. O que é fundamental e realmente leviano é uma descuidada solenidade. Se o Sr McCabe realmente deseja saber que tipo de garantia de realidade e solidez é proporcionado pelo simples ato do que chama de “falar seriamente”, deixemo-lo passar um domingo feliz inspecionando os púlpitos. Ou, ainda melhor, façamo-lo dar uma passada pela Câmara dos Comuns ou pela Câmara dos Lordes. Até o Sr McCabe admitiria que tais homens são solenes – mais solenes do que eu. E mesmo o Sr McCabe, creio, admitiria que esses homens são frívolos – mais frívolos do que eu. Por que o Sr McCabe tem de ser tão eloqüente sobre o perigo que procede dos escritores fantásticos e paradoxais? Por que deseja tão ardentemente escritores sérios e prolixos? Não há tantos escritores fantásticos e paradoxais, mas há um número gigantesco de escritores sérios e prolixos; e é pelo esforço dos escritores sérios e prolixos que tudo o que o Sr McCabe odeia (e, nesse ponto, tudo que também odeio) é conservado em atividade e existência. Como foi acontecer de um homem tão inteligente quanto o Sr McCabe pensar que o paradoxo e o chiste obstruem o caminho? Cerimônia é o que está obstruindo as tentativas de conquista modernas, em todos os aspectos. Prefere os “métodos sérios”; tem por favorita a “severidade”; é dela a “opinião” que, em toda a parte, obstrui o curso. Todos aqueles que presidiram uma comitiva numa audiência com um ministro sabem disso. Todos os que já escreveram uma carta ao Times sabem disso. Todos os ricos que desejam calar a conversa dos pobres falam de “severidade”. Todo ministro que não obtém uma resposta prontamente passa a ter uma “opinião”. Todos aqueles que exploram os empregados e usam métodos vis recomendam “métodos sérios”. Disse, um pouco antes, que a sinceridade não tinha nenhuma relação com a seriedade, mas confesso que não estou muito seguro de que estava certo. Seja como for, no mundo moderno, não estou convicto de que estava certo. No mundo moderno, a cerimônia é inimiga imediata da sinceridade. No mundo moderno, a sinceridade quase sempre está de um lado e a cerimônia quase sempre de outro. A única resposta possível a um ardente e satisfatório ataque de sinceridade é a miserável resposta da solenidade. Deixemos o Sr McCabe, ou quem quer que esteja muito preocupado em que sejamos sérios para sermos sinceros, que simplesmente imagine uma cena nalgum gabinete do governo em que o Sr Bernard Shaw fosse presidir uma comitiva socialista numa audiência com o Sr Austen Chamberlain.318 De que lado estaria a solenidade? De que lado estaria a sinceridade?
Decerto fico contente em descobrir que o Sr McCabe computa o Sr Shaw juntamente comigo no seu sistema de condenação da frivolidade. Creio que ele dissera, certa vez, que queria que o Sr Shaw sempre rotulasse os parágrafos de “sérios” ou “cômicos”. Não sei quais parágrafos do Sr Shaw devam ser rotulados de “sérios”; mas certamente não há dúvida de que tal parágrafo do Sr McCabe deva ser rotulado de “cômico”. Também disse, no artigo em tela, que o Sr Shaw tem a reputação de dizer deliberadamente tudo o que os ouvintes não esperam que diga. Não preciso lidar com tamanha falta de lógica e nem com a debilidade dessa observação, pois já tratei dela ao comentar a respeito do Sr Bernard Shaw. Basta dizer que a única razão séria que posso imaginar para que uma pessoa ouça o que outra tem a dizer é a primeira pessoa olhar para a segunda com fé ardorosa e atenção fixa, esperando que diga o que não espera que diga. Pode ser um paradoxo, mas isso é porque que os paradoxos são verdadeiros. Pode não ser racional, mas é porque o racionalismo é falso. No entanto, é manifestamente verdadeiro que toda vez que ouvimos um profeta ou professor podemos esperar ou não espirituosidade, podemos esperar ou não eloqüência, mas sempre esperamos aquilo que não esperamos. Podemos não esperar a verdade, podemos nem mesmo esperar a sabedoria, mas esperamos o inesperado. Se não esperamos o inesperado, por que vamos até ele? Se esperamos o esperado, por que não ficamos sentados em casa, na espera do que aconteça conosco? Se o Sr McCabe quis dizer apenas isso sobre o Sr Shaw, que sempre tem uma aplicação inesperada de sua doutrina para dar aos que o escutam, o que disse é muito verdadeiro, e dizê-lo é dizer apenas que o Sr Shaw é um homem original. Contudo, se quis dizer que o Sr Shaw já professou ou pregou alguma doutrina a não ser a dele, então, o que disse não é verdade. Não é minha intenção defender o Sr Shaw; como já foi visto, discordo totalmente dele. Mas não me importo, em seu favor, de desafiar abertamente todos os adversários comuns, tais como o Sr McCabe. Desafio o Sr McCabe, ou qualquer outro, a mencionar uma única ocasião em que o Sr Shaw tenha, em nome da presença de espírito ou da novidade, tomado uma posição que não fosse diretamente dedutível do corpo de sua doutrina. Sou, e fico feliz em afirmar, um estudioso muito aplicado das declarações do Sr Shaw, e peço ao Sr McCabe que, caso não acredite que tencione afirmar qualquer outra coisa, acredite que me disponho a esse desafio.
Tudo isso, no entanto, foi um parêntese. A coisa com que devo me interessar, em primeiro lugar, é com o pedido do Sr McCabe para que eu não seja tão frívolo. Deixem-me retornar ao texto da petição. Há, é claro, uma série de coisas que poderia dizer, ponto por ponto, a respeito disso. Não obstante, devo começar dizendo que o Sr McCabe erra ao supor que o perigo do desaparecimento da religião que antevejo seja o do aumento da sensualidade. Ao contrário, tendo a prever um declínio na sensualidade, pois contemplo o declínio da vida. Não penso que sob o materialismo ocidental moderno devamos ter anarquia. Duvido que tenhamos suficiente coragem e fibra individual até mesmo para ter liberdade política. É uma antiquada falácia supor que nossa objeção ao ceticismo seja que ele remove a disciplina da vida. Nossa objeção ao ceticismo é que ele remove a força motriz. O materialismo não é algo que destrói meras barreiras. O próprio materialismo é a grande barreira. A escola de McCabe advoga a liberdade política, mas nega a liberdade espiritual. Ou seja, abole as leis que poderiam ser desrespeitadas e as substitui por leis que não o podem. E isso é a verdadeira escravidão.
A verdade é que a civilização científica em que o Sr McCabe acredita tem um defeito bastante particular: sempre tende a destruir a democracia ou poder do homem comum em que o Sr McCabe também acredita. Ciência significa especialização, e especialização significa oligarquia. Uma vez estabelecido o hábito de confiar em determinados homens para produzir certos resultados em física ou astronomia, deixamos a porta aberta para uma demanda igualmente natural de confiança em determinados homens para realizar certas coisas no governo e na coerção dos homens. Caso percebamos ser razoável que um besouro seja o único objeto de estudo de um homem, e aquele homem o único estudioso daquele besouro, certamente será uma conseqüência muito pouco danosa dizer que a política deva ser o único objeto de estudo de determinado homem, e tal homem seja o único estudioso de política. Como já observei em outro lugar neste livro, o especialista é mais aristocrático do que o aristocrata, porque o aristocrata é apenas o homem que vive bem, ao passo que o especialista é o homem que sabe mais. Mas, ao observarmos o progresso de nossa civilização científica, vemos um gradual crescimento, em todos os campos, do especialista em relação ao trabalho popular. Antigamente, os homens cantavam juntos, em coro, ao redor de uma mesa; agora um homem canta sozinho, pelo motivo absurdo de que canta melhor. Caso persista a civilização científica (o que é muito improvável), somente um homem rirá, porque consegue rir melhor do que os demais.
Não sei se consigo expressar isso de forma mais resumida do que citar uma simples frase do Sr McCabe, que diz o seguinte: “Os balés de Alhambra, os fogos de artifício do Palácio de Cristal e os artigos do Sr Chesterton no Daily News têm seus espaços na vida”. Quisera eu que meus artigos tivessem um lugar tão nobre quanto as duas outras coisas mencionadas. Mas perguntemo-nos (com espírito amoroso, como diria o Sr Chadband)319 o que são os balés de Alhambra? Os balés de Alhambra são instituições em que um determinado grupo de pessoas, vestido de cor-de-rosa, realiza uma operação conhecida como dança. Em todas as comunidades dominadas por uma religião – nas comunidades cristãs medievais e em muitas sociedades primitivas – esse hábito de dançar era um hábito comum a todos, e não necessariamente estava restrito a uma classe profissional. A pessoa podia dançar sem ser dançarino; podia dançar sem trajar cor-de-rosa. E, à medida que a civilização científica do Sr McCabe progride – isto é, à medida que a civilização religiosa (ou a verdadeira civilização) declina – tanto mais “bem-treinadas”, mais cor-de-rosa, se tornarão as pessoas que dançam, e mais numerosas as pessoas que não dançam. O Sr McCabe pode identificar um exemplo do que digo no gradual descrédito social da antiga valsa européia ou da dança com pares, e a substituição por aquele horrível e degradante interlúdio oriental conhecido como skirt-dancing.320 Eis toda a essência da decadência, a supressão de cinco pessoas que fazem uma coisa por prazer por uma que a faz por dinheiro. Daí, portanto, quando o Sr McCabe diz que os balés de Alhambra e meus artigos “têm seus espaços na vida”, deve ser alertado de que está fazendo o máximo para criar um mundo em que a dança, propriamente dita, não terá nenhum espaço na vida. Está, realmente, tentando criar um mundo em que não haverá vida para a dança ocupar um espaço. O próprio fato de o Sr McCabe considerar a dança como algo pertencente a algumas mulheres contratadas em Alhambra é uma ilustração do mesmo princípio pelo qual é capaz de pensar que a religião é algo pertencente a alguns homens de clergyman.321 Ambas as coisas são coisas que não deveriam ser feitas para nós, mas por nós. Se o Sr McCabe fosse realmente religioso, seria feliz. Se fosse realmente feliz, dançaria.
De forma breve, podemos apresentar a questão desta forma. O principal traço da modernidade não é que os balés de Alhambra tenham lugar na vida. O principal traço, a principal e enorme tragédia da vida moderna, é que o Sr McCabe não tenha o seu espaço nos balés de Alhambra. O prazer dos movimentos graciosos e contínuos, a alegria de coordenar o ritmo da música ao ritmo dos membros, o encanto dos tecidos esvoaçantes, o júbilo de manter o equilíbrio numa perna só – tudo isso deveria pertencer, por direito, ao Sr McCabe e a mim; em suma, ao saudável cidadão comum. É provável que não consentíssemos em participar dessas evoluções. Mas isso é por sermos miseráveis racionalistas modernos. Não só amamos a nós mesmos mais do que amamos as obrigações; amamos a nós mesmos mais do que amamos a alegria.
Portanto, quando o Sr McCabe diz que dá às danças de Alhambra (e aos meus artigos) um espaço na vida, creio ser justificado alertá-lo que, pela própria natureza de sua filosofia e civilização favorita, ele lhes dá um lugar muito inadequado. Por isso (se puder prosseguir com o paralelo lisonjeiro), o Sr McCabe considera Alhambra e meus artigos duas coisas demasiado estranhas e absurdas, coisas que algumas pessoas especiais fazem (provavelmente, por dinheiro) para diverti-lo. Contudo, se já tivesse sentido um antigo, sublime e primitivo instinto da dança, teria descoberto que a dança não é, absolutamente, algo insignificante, mas uma coisa muito séria. Teria descoberto que a dança é um meio de expressão muito solene, casto e decente de certa classe de emoções. Igualmente, se já tivera, como o Sr Shaw e eu, o impulso para o que chama de paradoxo, teria descoberto que o paradoxo não é uma coisa fútil, mas algo muito sério. Teria descoberto que paradoxos simplesmente são feitos de determinada alegria desafiadora que pertence à crença. Considero que qualquer civilização que não tenha o hábito universal da dança alegre e ruidosa seja, do ponto de vista humano integral, como uma civilização defeituosa. E considero que qualquer inteligência que não tenha o hábito, de uma forma ou de outra, do pensamento alegre e ruidoso seja, do ponto de vista humano integral, como uma inteligência defeituosa. É inútil o Sr McCabe dizer que um balé é uma parte dele. Ele é que devia ser parte de um balé, ou então é só parcialmente homem. É inútil dizer que não “discorda da introdução do humor em qualquer controvérsia”. Ele mesmo deve introduzir o humor em qualquer controvérsia; pois, salvo o humorista, tal pessoa é apenas parcialmente humana. Para resumir toda a questão de forma simples, se o Sr McCabe me perguntar por que introduzo a leviandade numa discussão a respeito da natureza do homem, respondo: porque a leviandade é parte da natureza do homem. Se me perguntar por que introduzo o que chama de paradoxos num problema filosófico, respondo que é por todos os problemas filosóficos tenderem ao paradoxo. Caso objete ao modo tumultuado como trato a vida, respondo que a vida é um tumulto. E digo que o universo, como o vejo, é muito mais parecido com os fogos de artifício do Palácio de Cristal do que com a própria filosofia dele. Por todo o cosmo há uma festividade ansiosa e secreta – como os preparativos para o dia de Guy Fawkes.322 A eternidade é véspera de algo. Nunca observo as estrelas sem deixar de sentir que são fogos de artifício lançados por um colegial, fixos num eterno espocar.
311 Christianity and Rationalism on Trial: the Christian Defenses Answered [Cristianismo e racionalismo em questão: respostas às defesas do cristianismo]. Publicado em Londres, em 1904, pela Rationalist Press Association.
312 Teatro em estilo mourisco, construído em 1854, na Praça Leicester, em Londres, e demolido em 1936. Era um local de exibição de shows musicais e peças teatrais. Na época em que McCabe escreveu o teatro possuía corpo de baile próprio.
313 Palácio de estrutura metálica e vidro, inicialmente localizado no Hyde Park, em Londres, construído para a grande exposição de 1851. Após a exposição o palácio foi transladado para Sydenham Hill, onde permaneceu até a sua destruição, por um incêndio, em 1936. Os shows de fogos de artifício em frente ao Palácio de Cristal foram popularizados pela Brocks Fogos de Artifício, e aconteciam às quintas-feiras à tarde.
314 Chesterton começou a escrever artigos semanais no jornal liberal The Speaker, no ano de 1899, no Daily News (1846–1912), cujo primeiro editor foi Charles Dickens (1812–1870) e, em 1905, começou uma coluna no Illustrated London News (1842–1989) que continuaria até a morte.
315 Nome artístico de George Edward Wade (1869–1954), famoso comediante inglês da época em que se intitulava primeiro-ministro da alegria.
316 Segundo mandamento do decálogo moral judaico-cristão. Ver: Ex 20,7.
317 Na Bíblia, Deus é descrito como alguém que ri e se diverte no livro dos Salmos, como em Sl 2,4. No entanto, o “piscar de olhos” que em inglês é to wink pode significar não só “abrir e fechar os olhos” ou “dar uma piscadela”, como também pode aparecer como to wink at, que significa “fazer que não vê”. Na Bíblia, o ato de piscar os olhos relaciona-se à traição, como nas passagens de Sl 35,19 ou Pr 6,13, e em nenhuma delas a traição é atribuída à divindade. Em outros trechos vemos atribuírem a Deus o “fingir que não vê” pecados e traições como no caso de Hab 1, 13, mas nas traduções da Bíblia para português algumas passagens em que, em inglês, é utilizado o verbo preposicionado to wink at foram traduzidas, por exemplo, como “contemplar”, o que dificulta a compreensão da imagem de Chesterton.
318 Sir Joseph Austen Chamberlain (1863–1937) era filho do já citado político Joseph Chamberlain (1836–1914) e meio-irmão do primeiro-ministro Arthur Neville Chamberlain (1869–1940). Passou quarenta e cinco anos no Parlamento e exerceu o cargo de Chancellor of the Exchequer de 1903 a 1905 e Secretário de Estado para Assuntos Estrangeiros de 1924 a 1929. Foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 1925. Era conhecido como o último remanescente da correção vitoriana.
319 Personagem de Charles Dickens (1812–1870) no romance Bleak House (1852–1853), que poderia ser descrito como um piedoso hipócrita.
320 Forma de dança, popularizada no teatro de Vaudeville e criada na década de 1870. Normalmente executado por dançarinas trajando uma saia (daí o nome de skirt) de babados, era uma mistura de vertiginosos giros, passos simples de balé e truques simples de ginástica que encantava a audiência masculina.
321 Colarinho clerical com tira removível. Inventado pelo pastor anglicano Rev. Donald McLeod, no século XIX, foi desenvolvido para ser usado no trabalho cotidiano do ministro por ser mais prático que a batina. Os católicos só o adotaram como veste sacerdotal após o Concílio Vaticano II.
322 Guy Fawkes (1570–1606) foi um soldado inglês que participou da “Conspiração da Pólvora”, organizada pelos católicos para explodir o Parlamento quando o rei protestante James I (1566–1625), em 5 de novembro de 1605, o estivesse presidindo. A conspiração foi descoberta e os conspiradores (entre eles, Guy Fawkes) foram mortos. A captura de Fawkes é celebrada até os dias atuais no dia 5 de novembro, na “Noite das Fogueiras” (Bonfire Night). Nesta noite é tradição malhar e queimar em fogueiras bonecos que representam Fawkes, e soltar fogos de artifício.
CAPÍTULO XVII
A ironia de Whistler323
O SR ARTHUR SYMONS,324 escritor capaz e talentoso, incluiu no livro de ensaios publicado recentemente, creio, uma defesa para London Nights,325 em que diz que a moralidade deve estar, na crítica, totalmente subordinada à arte, e usa o argumento um tanto singular de que a arte, ou o culto à beleza, é o mesmo em todos os tempos, ao passo que a moralidade difere em tudo, em todas as eras. Parece desafiar os críticos ou os leitores a mencionar qualquer característica ou qualidade permanente da ética. Seguramente este é um exemplo muito curioso de um preconceito exagerado contra a moralidade, que faz com que tantos estetas ultramodernos sejam tão mórbidos e fanáticos quanto qualquer eremita oriental. Sem dúvida, é uma expressão muito comum de o intelectualismo moderno dizer que a moralidade de uma época pode ser totalmente diferente da moralidade de outra. E, como tantas outras expressões do moderno intelectualismo, ela não significa absolutamente nada. Caso duas moralidades sejam inteiramente diferentes, por que as chamar de moralidade? É como se um homem dissesse: “Os camelos em lugares diversos são totalmente diferentes; alguns têm seis pernas, outros nenhuma, alguns têm escamas, outros penas, alguns têm chifres, outros asas, alguns são verdes, outros triangulares. Não há nenhum traço comum”. O homem comum de bom senso perguntaria: “O que faz, então, com que chamemos todos eles de camelo? Como reconhecer um camelo ao vê-lo?”. É óbvio que há uma permanente substância na moralidade, assim como há uma permanente substância na arte. Afirmar isto é o mesmo que dizer que moralidade é moralidade, e arte é arte. O crítico de arte ideal veria, sem dúvida, a beleza perene em toda escola de arte; da mesma forma, o moralista ideal veria a ética permanente em toda norma. Mas quase nenhum dos melhores ingleses que já viveram pôde ver nada além de vulgaridade e idolatria na radiante devoção de um brâmane. Assim como é igualmente verdade que o grupo dos maiores artistas que o mundo já conheceu, os gigantes da Renascença, nada puderam ver na etérea força do gótico, exceto barbarismo.
A tendência contra a moralidade entre os estetas modernos é algo muito alardeado. Não obstante, não é realmente uma tendência contra a moralidade; é uma tendência contra a moralidade dos outros. Geralmente está fundamentada numa preferência moral muito clara por certo estilo de vida, pagão, aceitável, humano. O esteta moderno, ao querer fazer crer que valoriza a beleza mais do que a conduta, lê Mallarmé326 e bebe absinto na taverna. Mas isso não é apenas seu tipo favorito de beleza; é também seu tipo favorito de conduta. Caso realmente quisesse que acreditássemos que preza somente a beleza, teria de freqüentar nada além das festas na escola wesleyana, e pintar a luz do sol nos cabelos de bebês wesleyanos.327 Não deveria ler nada, a não ser os eloqüentes sermões teológicos dos antiquados ministros presbiterianos. Aqui, a falta de qualquer afinidade moral comprovaria que o interesse era puramente verbal ou pictórico, como o é. O esteta moderno, em todos os livros que lê e escreve, agarra-se à orla da própria moralidade ou imoralidade. O paladino da l’art pour l’art328 está sempre denunciando Ruskin329 por ser moralista. Se fosse realmente um defensor da l’art pour l’art, estaria sempre se aferrando a Ruskin pelo estilo.
A doutrina da distinção entre arte e moralidade deve grande parte do sucesso à confusão incorrigível de arte e moralidade com as pessoas e proezas dos grandes expoentes. Desta feliz contradição Whistler foi a própria encarnação. Ninguém jamais pregou a impessoalidade da arte tão bem; ninguém pregou a impessoalidade da arte de forma tão pessoal. Para ele, as pinturas não tinham qualquer relação com problemas de caráter; mas para todos os ardorosos admiradores seu caráter era, na realidade, muito mais interessante que as pinturas. Regozijava-se por ser um artista além do certo e do errado. No entanto, conseguia falar dia e noite sobre seus erros e acertos. Seus talentos eram muitos; suas virtudes, devemos confessar, não eram tantas, fora a gentileza para com os verdadeiros amigos, que muitos dos biógrafos insistem em afirmar, mas que é, com certeza, a qualidade de todo homem são, desde piratas a batedores de carteira. Além desta, suas virtudes marcantes se limitavam, sobretudo, a duas, que são admiráveis – coragem e um amor abstrato pelo bom trabalho. Contudo, suponho que usufruiu mais dessas últimas virtudes que de todos os talentos. Um homem deve ter algo do moralista caso deseje fazer pregações, ainda que deva proclamar imoralidades. O professor Walter Raleigh,330 em seu In Memoriam: James McNeill Whistler,331 insiste, o suficiente, no forte traço de uma excêntrica honestidade em questões estritamente pictóricas, que perpassavam seu caráter complexo e um tanto confuso. “Preferiria destruir qualquer dos quadros a deixar um toque descuidado ou inexpressivo dentro dos limites da moldura. Preferiria recomeçar o quadro centenas de vezes a tentar remendá-lo para fazer parecer melhor do que era”.
Ninguém culpará o professor Raleigh, que teve de ler um tipo de oração funeral para Whistler na abertura da exposição em memória do pintor, por ter se limitado, naquela situação, principalmente aos méritos e às mais salientes qualidades do indivíduo. Naturalmente, escolheríamos outro tipo de composição para considerar apropriadamente as fraquezas de Whistler. Mas estas nunca devem faltar na visão que dele temos. De fato, a verdade é que não é tanto uma questão de fraquezas de Whistler, mas da fraqueza primária e intrínseca de Whistler. Era um daqueles indivíduos que vivem conforme as emoções, sempre cheios de vaidade. Portanto, não tinha forças para desperdiçar; por isso, não tinha nenhuma bondade, nenhuma genialidade; pois a genialidade quase pode ser definida como um desperdiçar de forças. Não teve aquela negligência divina; nunca esqueceu de si mesmo; toda a vida foi, para usar uma expressão dele, um arranjo.332 Praticou a “arte de viver” – um truque miserável. Em suma, foi um grande artista; mas, perceptivelmente, não foi um grande homem. Neste particular, discordo fortemente do professor Raleigh sobre o que é, de um ponto de vista superficialmente literário, um dos seus argumentos mais fortes. Compara o riso de Whistler com o riso de outro homem que foi tanto um grande homem quanto um grande artista:
A postura que assumiu com o público era exatamente a atitude de Robert Browning,333 que também sofreu um longo período de negligência e erro, nestas linhas de The Ring and the Book:
Bem, povo britânico, vós que de mim não gostais
(Deus vos ama!) e dareis o devido riso
na disputa sombria; ride! Rio primeiro.334
“O Sr Whistler”, acrescenta o professor Raleigh, “sempre riu primeiro”. A verdade é, creio, que Whistler, absolutamente, nunca riu. Não havia riso em sua natureza, porque não havia descuido e renúncia, nenhuma humildade. Não posso entender que alguém leia A nobre arte de fazer inimigos335 e pense que exista riso nesse juízo. Sua argúcia é uma tortura. Whistler se contorce em venturosos arabescos verbais; está cheio de um zelo brutal; está inspirado da total seriedade da malícia sincera. Prejudica-se para ferir o oponente. Browning sorria, porque Browning não se importava; Browning não se importava, porque Browning era um grande homem. E quando Browning disse, entre parênteses, ao povo simples e sensato que não gostava de seus livros, “Deus vos ama!”, ele não estava, de forma alguma, escarnecendo. Estava sorrindo – o que equivale a dizer que estava sendo sincero.
Há três classes diferentes de grandes satiristas que também são grandes homens – isto é, três classes de grandes homens que podem rir de tudo sem perder a alma. O satirista do primeiro tipo é o homem que acima de tudo gosta de si mesmo e, então, gosta dos inimigos. Nesse sentido, ama o inimigo e, por uma espécie de exagero de cristianismo, ama tanto mais o inimigo quanto mais se torna inimigo. Tal satirista tem um tipo de felicidade irresistível e agressiva ao declarar raiva; sua maldição é tão benévola quanto uma bênção. Desse tipo de satirista o grande exemplo é Rabelais.336 Este é o primeiro exemplo típico de sátira, a sátira volúvel, violenta, indecente, mas não maliciosa. A sátira de Whistler não é essa. Nunca estava, em nenhuma das controvérsias, simplesmente feliz; a prova disso é que nunca dizia um total disparate. Há um segundo tipo de mente que produz sátira com a qualidade da grandeza. Esta se encontra no satirista cujas paixões são liberadas e saem soltas por uma intolerável “noção de errado”. Fica enlouquecido ao perceber que os homens estão enlouquecendo; sua língua se torna um membro rebelde, e testemunha contra toda a humanidade. Tal homem foi Swift, em quem a saeva indignatio337 era uma amargura para os demais, porque era uma amargura consigo mesmo. Whistler não era tal satirista. Não ria porque estava feliz, como Rabelais. Todavia, também não ria por ser infeliz, como Swift.
O terceiro tipo da grande sátira é aquela em que o satirista é capaz de se pôr acima da vítima, na única acepção séria que a superioridade pode suportar, o da piedade ao pecador e do respeito ao homem, mesmo ao satirizar ambos. Tal realização pode ser encontrada no Atticus338 de Pope, um poema em que o satirista sente que está satirizando fraquezas que pertencem especialmente ao gênio literário. Por isso, sente prazer em assinalar os pontos fortes do inimigo antes de ressaltar as fraquezas. Esta é, talvez, a mais alta e mais honrosa forma de sátira. Esta não é a sátira de Whistler. Ele não está repleto de uma grande dor pelos erros da natureza humana; para ele, o mal é totalmente feito para si mesmo.
Não foi uma grande personalidade, porque pensava demasiadamente em si mesmo. E a situação é ainda mais grave. Por vezes não foi nem mesmo um grande artista, porque pensava demasiadamente na arte. Qualquer homem que possua um conhecimento vivaz da psicologia humana deve suspeitar profundamente de quem quer que alegue ser artista, e fale muito sobre arte. A arte é uma coisa boa e humana, como andar ou rezar; mas no momento em que começa a ser discutida muito solenemente, podemos estar certos de que a coisa se tornou uma obstrução e um tipo de dificuldade.
O temperamento artístico é uma doença que aflige amadores. É uma doença que surge nos homens que não têm suficiente poder de expressão para articular e se livrar do elemento de arte em seu ser. É saudável todo homem sadio expressar a arte que tem dentro de si; é essencial todo homem sadio se livrar da arte que traz dentro de si, a qualquer custo. Os artistas de grande e saudável vitalidade se livram de sua arte facilmente, tal como respiram ou transpiram. Mas nos artistas de menor força, a coisa se torna uma pressão, e produz uma dor bem definida, chamada de temperamento artístico. Assim, grandes artistas são capazes de ser homens comuns – homens como Shakespeare ou Browning. Há muitas tragédias de temperamento artístico verdadeiras, tragédias de vaidade, violência ou medo. Mas a grande tragédia do temperamento artístico é que não consegue produzir arte.
Whistler conseguiu produzir arte; e, neste aspecto, foi um grande homem. Mas não conseguia esquecer a arte; e, neste outro aspecto, foi apenas um homem com temperamento artístico. Não pode haver maior manifestação de um homem que é realmente um grande artista do que o fato de poder repudiar o assunto da arte; de poder, em certas ocasiões, desejar que a arte esteja no fundo do mar. Do mesmo modo, sempre tendemos a confiar mais num advogado que não fale alienações de títulos legais numa degustação de vinhos e queijos. O que realmente aspiramos de todos os que conduzem algum negócio é que a força integral do homem comum seja dedicada àquele estudo particular. Não desejamos que a força integral de tal estudo seja dedicada ao homem comum. Não desejamos, de forma alguma, que nossa ação judicial particular manifeste sua força na brincadeira do advogado com os filhos, ou nos passeios de bicicleta, ou que invada suas meditações sobre a estrela da manhã. Todavia desejamos, de fato, que as brincadeiras com os filhos, os passeios de bicicleta e as meditações sobre a estrela da manhã manifestem algo de sua força em nossa ação judicial. Desejamos que caso tenha adquirido qualquer melhoria pulmonar nos passeios de bicicleta, ou sido iluminado por quaisquer metáforas brilhantes e encantadoras pela estrela da manhã, que isso seja colocado à nossa disposição naquela determinada controvérsia forense. Em suma, ficamos gratos que seja um homem comum, visto que isso pode ajudá-lo a ser um advogado excepcional.
Whistler nunca deixou de ser um artista. Como observou o Sr Max Beerbohm339 numa de suas extraordinárias críticas sinceras e sensatas, Whistler realmente considerava Whistler como o seu maior trabalho artístico. As mechas de cabelos brancos, o monóculo, o notável chapéu – estes lhe eram mais caros que quaisquer dos noturnos ou dos arranjos. Podia se livrar dos noturnos, mas não do chapéu. Nunca se livrou daquele acúmulo desproporcional de estetismo que é o fardo de todo amador.
Desnecessário dizer que essa é a explicação verdadeira do que confundiu tantos críticos diletantes, o problema da extrema normalidade de comportamento de tantos grandes gênios da história. O comportamento deles era tão comum que não foi feito nenhum registro; por conseguinte, era tão comum que parecia misterioso. Assim, algumas pessoas dizem que Bacon escreveu as peças de Shakespeare.340 O temperamento artístico moderno não consegue entender como alguém que tenha escrito poemas líricos como escrevera Shakespeare pudesse ser tão habilidoso quanto Shakespeare nos negócios na cidadezinha de Warwickshire.341 A explicação é bastante simples: Shakespeare tinha um impulso lírico verdadeiro, escrevia uma lírica verdadeira, e assim se livrava do impulso e seguia atento aos negócios. Ser artista não o impedia de ser um homem comum, tal como ser um dorminhoco à noite ou ser uma pessoa que aprecia a hora do jantar não impede ninguém de ser um homem comum.
Todos os grandes mestres e líderes tiveram por hábito supor que seus próprios pontos de vista fossem benévolos e fortuitos, os quais prontamente atrairiam todo transeunte. Caso um homem seja verdadeiramente superior aos semelhantes, a primeira coisa em que acredita é na igualdade dos homens. Podemos ver isso, por exemplo, na estranha e inocente racionalidade com que Cristo se dirigia a qualquer variegada multidão que se reunia em torno d’Ele. “Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as noventa e nove nos montes e vai à procura da extraviada?”342 Ou ainda, “Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe?”.343 Essa simplicidade, essa camaradagem quase banal, é a nota de todos os grandes intelectos.
Para as inteligências muito grandiosas as coisas sobre as quais os homens concordam são incomensuravelmente mais importantes do que as coisas sobre as quais discordam, as quais, para efeitos práticos, desaparecem. Trazem em si muito de um antigo riso, até mesmo para tolerar discutir sobre a diferença entre os chapéus de dois homens nascidos de mulher, ou sobre a cultura sutilmente diferente de homens que hão de morrer. O grande homem de primeira classe é igual a qualquer homem, como Shakespeare. O grande homem de segunda classe fica de joelhos perante outros homens, como Whitman. O grande homem de terceira classe é superior aos outros homens, como Whistler.
323 James Abbott McNeill Whistler (1834–1903) foi um pintor norte-americano que viveu na Inglaterra. Avesso ao sentimentalismo e às alusões à moral na pintura, foi um dos principais proponentes do credo da “arte pela arte”. De personalidade excêntrica e humor mordaz, foi amigo de vários pintores e escritores de sua época, como Henri Fantin-Latour (1836–1904), Édouard Manet (1832–1883), Claude Monet (1840–1926), Charles-Pierre Baudelaire (1821–1867), Auguste Rodin (1840–1917), Edgar Degas (1834–1917), Oscar Wilde (1854–1900) e Étienne Mallarmé (1842–1898), entre outros.
324 Arthur Symons (1865–1945) foi um poeta, crítico e editor de revistas galesas que publicou um volume de poesias chamado London Nights [Noites londrinas], em 1895. É considerado o introdutor do simbolismo na poesia inglesa.
325 Chesterton se refere ao livro de Symons, Studies in Prose and Verse [Estudos em prosa e verso] de 1904, que na página 283 traz o prefácio à segunda edição de London Nights em que se defende das críticas recebidas por ocasião do lançamento do volume de poesia.
326 Stéphane Mallarmé, cujo verdadeiro nome era Étienne Mallarmé (1842–1898), foi um poeta e crítico literário francês que utilizava os símbolos, mais que a narração, para sugerir o que queria expressar. Dono de um estilo de escrita hermético e difícil, sua prosa, bem como a poesia, se caracteriza pela musicalidade, a experimentação gramatical e um pensamento requintado. É considerado um dos pais da poesia concreta.
327 Referente a John Wesley (1703–1791), clérigo anglicano, fundador do movimento Metodista. Pregava a perfeição cristã, a santidade de coração e de vida.
328 A expressão “arte pela arte” expressa a filosofia de que o valor intrínseco da arte, e a única “arte” verdadeira, é a divorciada de qualquer função didática, moral ou utilitária. Dessa forma as atividades artísticas eram autojustificadas, sendo permitido ao artista ser moralmente subversivo. É creditada a Théophile Gautier (1811–1872), mas aparece nas obras de vários filósofos e de escritores do século XIX. Na Inglaterra, a expressão foi a bandeira do grupo liderado por Walter Pater (1839–1894), do próprio Whistler e de outros seguidores do movimento estético, opositores declarados da moral vitoriana. Neste caso, Chesterton se refere ao próprio Whistler que processou Ruskin em 1877.
329 John Ruskin (1819–1900) foi escritor, crítico de arte, poeta e desenhista. Seus ensaios sobre arte e arquitetura foram extremamente influentes na era vitoriana, e repercutem até os dias de hoje. Romântico, opunha-se ao Classicismo nas artes e admirava o Medievalismo, passando a defender, a partir de 1851, as idéias da irmandade Pré-Rafaelita. Em 1877, foi processado por Whistler por ter condenado a pintura Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket [Noturno em negro e dourado: o foguete cadente]. Também foi uma das influências do movimento de artes e ofícios [Arts & Crafts] de William Morris (1834–1896) e da Art Nouveau.
330 Sir Walter Alexander Raleigh (1861–1922) foi professor universitário, escritor e poeta escocês. Foi Regius Professor de Língua e Literatura Inglesas na Universidade de Glasgow (1900–1904) e Merton Professor de Literatura inglesa em Oxford (1904–1922).
331 A obra, na verdade, foi uma palestra ministrada no Café Royal, em Londres, no jantar de inauguração da exposição em memória de Whistler, em 20 de fevereiro de 1905, publicada pela Sociedade Internacional de Escultores, Pintores e Gravadores.
332 Whistler intitulava muitos dos quadros de symphonies [sinfonias], arrangements [arranjos], harmonies [harmonias] e nocturnes [noturnos]. Dizem os críticos mais simpáticos que empregava tais nomes para enfatizar a harmonia tonal, o paralelo da pintura com a música.
333 Robert Browning (1812–1889) foi um poeta e dramaturgo inglês. Casado com a também poetisa Elizabeth Barrett-Browning (1806–1861).
334 A obra The Ring and the Book [O Anel e o Livro], de 1868, conta a história do assassinato da esposa de um conde italiano. Apesar da malignidade e sordidez da trama, o caso leva a uma interpretação moralista, pois envolve relações como amor conjugal e piedade filial, numa aura de otimismo e fervor moral. O trecho citado encontra-se no capítulo I do livro e no original seria: “Well, British Public, ye who like me not, / (God love you!) and will have your proper laugh / at the dark question; Laugh it! I laugh first”.
335 The Gentle Art of Making Enemies, publicado em 1890. Em parte é a transcrição do já mencionado processo por calúnia e difamação contra John Ruskin, que dissera que a tela de Whistler Noturno em negro e dourado: o foguete cadente seria algo como “atirar uma lata de tinta no rosto do público”. O livro apresenta as cartas de Whistler a jornais contendo muitas reclamações insignificantes contra vários conhecidos e amigos.
336 François Rabelais (1494–1553) foi um escritor, padre e médico francês do período do Renascimento. Imortalizou-se como autor das obras Pantagruel (1532) e Gargântua (1552).
337 “Feroz indignação” em latim.
338 Não é um poema, como afirma Chesterton, mas um retrato satírico de Joseph Addison (1672–1719) no poema de Alexander Pope (1688–1744), Epistle to Dr Arbuthnot [Epístola ao Dr Arbuthnot] (1734), linhas 194–214.
339 Sir Henry Maximilian “Max” Beerbohm (1872–1956) foi um ensaísta e caricaturista inglês. A referência é ao ensaio Whistler’s Writing, publicado primeiramente em 1903, no ano da morte do pintor, e republicado, em 1909, na coletânea de ensaios Yet Again.
340 Mais uma vez, Chesterton se refere veladamente às teorias da Sra Elizabeth Wells Gallup (1848–1934), já citada no capítulo VIII do presente livro.
341 Referência à cidade de Stratford-upon-Avon, local de nascimento de William Shakespeare (1564–1616), parte integrante do condado de Warwickshire.
342 Mt 18,12.
343 Mt 7,9–10.
CAPÍTULO XVIII
A falácia da jovem nação
DIZER QUE UM homem é um idealista é simplesmente dizer que é um homem; não obstante, é possível fazer algumas distinções convincentes entre um tipo e outro de idealista. Uma distinção possível deve ser feita ao dizer, por exemplo, que a humanidade está dividida entre idealistas conscientes e inconscientes. Da mesma forma, a humanidade está dividida em ritualistas conscientes e inconscientes. O curioso, neste assim como noutros exemplos, é o ritualismo consciente ser comparativamente simples; o ritual inconsciente é o que é realmente pesado e complicado. O ritual comparativamente primitivo e direto é o que as pessoas chamam de “ritualístico”. Compreende coisas simples como pão, vinho, fogo e homens prostrando-se com o rosto por terra. Mas o ritual realmente complexo, muito colorido e elaborado, desnecessariamente formal, é o ritual em que as pessoas tomam parte sem conhecer. Não envolve coisas simples como vinho e fogo, mas coisas realmente especiais, locais, excepcionais e engenhosas – como tapetes, aldravas, campainhas, chapéus de seda, gravatas brancas, cartões brilhantes e confetes. A verdade é que o homem moderno dificilmente se volta às coisas antigas e simples a não ser quando executa alguma pantomima religiosa. O homem moderno dificilmente deixa o ritual exceto ao entrar numa igreja ritualística. No caso das antigas formalidades místicas, podemos ao menos dizer que o ritual não é um mero ritual; que os símbolos usados são, na maioria dos casos, símbolos que pertencem à primitiva poesia humana. O mais feroz oponente das cerimônias cristãs deve admitir que se o catolicismo não tivesse instituído o pão e vinho, alguém provavelmente o teria feito. Qualquer um com talento poético admitirá que, para o instinto humano comum, o pão simboliza algo que não pode ser facilmente simbolizado de outra forma; que o vinho, para o instinto humano comum, simboliza algo que não pode ser facilmente simbolizado de outra forma. Mas gravatas brancas ao anoitecer são um ritual,344 e nada além de um ritual. Ninguém poderia pensar que gravatas brancas ao anoitecer fossem poéticas e primitivas. Ninguém defenderia que o instinto humano comum, em qualquer época ou país, tende a simbolizar a idéia de anoitecer por uma gravata branca. Ao contrário, o instinto humano comum, imagino, tenderia a simbolizar o anoitecer com cachecóis de algumas cores do pôr-do-sol; não com gravatas brancas, mas gravatas fulvas ou carmesins – gravatas púrpuras ou verde-oliva, ou mesmo dourado-escuras. O Sr J.A. Kensit,345 por exemplo, está convencido de que não é um ritualista. Mas a vida diária do Sr J.A. Kensit, como a de qualquer homem moderno, é, de fato, um contínuo catálogo condensado de encenações e disparates místicos. Tomando um exemplo de inevitáveis centenas: imagino que o Sr Kensit levante o chapéu para uma senhora; e o que pode ser mais solene e absurdo, se considerado em abstrato, do que simbolizar a existência do outro sexo retirando uma parte da vestimenta e fazendo um aceno? Isso, repito, não é um símbolo natural e primitivo, como fogo ou comida. Um homem poderia, da mesma forma, tirar o paletó para as senhoras; e se um homem, pelo ritual social de sua civilização, tivesse de tirar o paletó para uma senhora, todo homem sensato e cavalheiro tiraria o paletó para as senhoras. Em suma, o Sr Kensit, e aqueles que concordam com ele, podem pensar, e sinceramente pensam, que os homens despendem muito incenso e cerimônia na adoração do outro mundo. Mas ninguém crê que despenda muito incenso e cerimônia na adoração deste mundo.
Todos os homens são, então, ritualistas, mas são ritualistas conscientes ou inconscientes. Os ritualistas conscientes estão geralmente satisfeitos com muito poucos símbolos simples e elementares; os ritualistas inconscientes não estão satisfeitos com nada a não ser a totalidade da vida humana, tornando-se ritualistas de um modo quase insano. Os primeiros são chamados de ritualistas porque inventam e recordam um rito; os outros são chamados anti-ritualistas porque obedecem e esquecem milhares de ritos. E uma distinção um tanto parecida com essa, que descrevi com inevitável minúcia entre o ritualista consciente e o inconsciente, existe entre o idealista consciente e o inconsciente. É inútil falar mal dos cínicos e dos materialistas – não há cínicos, não há materialistas. Todo homem é idealista; o que acontece muitas vezes é ter o ideal errado. Todo homem é incuravelmente sentimental; mas, infelizmente, é um sentimento muitas vezes falso. Quando comentamos, por exemplo, sobre algum inescrupuloso comerciante, e dizemos que tal pessoa faria tudo por dinheiro, usamos uma expressão muito imprecisa, e o difamamos excessivamente. Ele não faria tudo por dinheiro. Faria algumas coisas por dinheiro; venderia a alma por dinheiro, por exemplo; e, como disse Mirabeau346 com muito senso de humor, ele não seria tão sábio a ponto de “confundir dinheiro com estrume”. Oprimiria os homens por dinheiro; mas ocorre que homens e alma não são coisas em que acredita; não são seus ideais. Mas possui ideais delicados e obscuros; e não os violaria por dinheiro. Não tomaria uma sopa diretamente da sopeira por dinheiro. Não vestiria a cauda da casaca voltada para a frente por dinheiro. Não divulgaria um relatório médico que atestasse sua degeneração cerebral por dinheiro. Na prática real da vida atual descobrimos, na questão do ideal, exatamente o que já descobrimos na questão do ritual. Descobrimos que, apesar de existir um perigo perfeitamente genuíno de fanatismo nos homens que têm ideais espirituais, o perigo urgente e permanente de fanatismo vem dos homens que têm ideais mundanos.
As pessoas que dizem que um ideal é uma coisa perigosa, que ilude e inebria, estão perfeitamente corretas. Contudo, o ideal que nos inebria mais é o tipo menos idealista de ideal. O ideal que nos inebria menos é o ideal propriamente ideal; que nos torna sóbrios repentinamente, como o fazem todas as alturas, precipícios e grandes distâncias. Mesmo admitindo ser um grande mal confundir um promontório com uma nuvem, mesmo assim a nuvem que pode ser facilmente confundida com um promontório é a nuvem que está mais próxima da terra. Igualmente, podemos concordar que possa ser perigoso confundir um ideal com algo prático. Mas devemos ainda observar que, neste aspecto, o mais perigoso de todos os ideais é o ideal que parece ligeiramente prático. É difícil atingir um ideal elevado; conseqüentemente é quase impossível persuadirmo-nos de que o atingimos. Mas é fácil atingir um ideal inferior; conseqüentemente é ainda mais fácil persuadirmo-nos que o atingimos quando nem de longe o alcançamos. Tomemos um exemplo fortuito. Poderíamos considerar uma ambição elevada o desejo de nos tornarmos arcanjos; o homem que nutre tal ideal exibiria, muito provavelmente, traços de ascetismo, ou mesmo de arrebatamento, mas não, creio, de delírio. Não pensaria ser um arcanjo e começaria a balançar os braços como se fossem asas. Mas suponhamos que um homem sadio tivesse um ideal menor; suponhamos que desejasse ser um cavalheiro. Qualquer um que conheça o mundo sabe que em três meses teria se convencido de que era um cavalheiro; e, não sendo este obviamente o caso, o resultado seria o de verdadeiras deslocações práticas e calamidades na vida social. Não são os ideais extravagantes que arruínam o mundo prático, são os ideais humildes.
A questão, talvez, possa ser ilustrada por um paralelo com nossos políticos modernos. Quando os homens nos dizem que os velhos políticos liberais do tipo de um Gladstone apenas se preocupavam com ideais, estão, claramente, falando tolices – preocupavam-se com muitas outras coisas, até mesmo com votos. E quando dizem que os modernos políticos do tipo do Sr Chamberlain ou, de outra forma, de lorde Rosebery, apenas se preocupam com votos ou com interesses materiais, estão novamente falando tolices – esses homens se preocupam com ideais, como todos os outros homens. Mas a verdadeira distinção que pode ser feita é esta: para os políticos mais antigos, o ideal era um ideal, e nada mais. Para os políticos modernos, seus sonhos não são somente bons sonhos, são realidades. O antigo político diria: “Seria bom que houvesse uma Federação de Repúblicas que dominasse o mundo”. Mas o político moderno não diz: “Seria bom que o imperialismo britânico dominasse o mundo”. Ele diz: “É bom que exista o imperialismo britânico dominando o mundo”, visto que não há nada disso. O antigo liberal diria: “Deveria haver um bom governo irlandês na Irlanda”. Mas o moderno unionista347 não diz: “Deveria haver um bom governo inglês na Irlanda”. Ele diz: “Há um bom governo inglês na Irlanda”, o que é um absurdo. Em suma, os políticos modernos parecem pensar que um homem se torna prático apenas por fazer asserções sobre coisas totalmente práticas. Parece que não importa a ilusão, desde que seja uma ilusão materialista. A maioria de nós, instintivamente, sente que, no que diz respeito às questões práticas, o contrário é verdadeiro. Certamente preferiria dividir aposentos com um cavalheiro que pensasse ser Deus do que com um cavalheiro que pensasse ser um gafanhoto. Estar continuamente assombrado por imagens e problemas práticos, pensar constantemente nas coisas como reais, como urgentes, como em processo terminal – tais coisas não provam que um homem seja prático; essas coisas estão, de fato, entre os sinais mais comuns de um lunático. O fato de nossos modernos estadistas serem materialistas não é nada em comparação ao fato de também serem mórbidos. Ter uma visão de anjos pode tornar alguém demasiado sobrenaturalista. Mas simplesmente ver cobras num delirium tremens não torna a pessoa um naturalista.
E ao examinarmos realmente o sortimento de conceitos dos experientes políticos modernos, descobrimos que tais noções são meros delírios. Um grande número de exemplos poderia ser dado. Podemos tomar, por exemplo, o caso de uma estranha classe de conceitos que fundamenta a palavra “união”, e todos os louvores que sobre ela se acumulam. União não é, em si mesma, melhor do que separação. Ter um partido a favor da união e um partido a favor da separação é tão absurdo quanto ter um partido a favor de subir as escadas e outro a favor de descer as escadas. A questão não é se devemos subir ou descer as escadas, mas: para onde estamos indo, e o que praticamos? A união é força; união é também fraqueza. É uma boa coisa atrelar dois cavalos numa carroça; mas não é uma boa coisa transformar duas carruagens hansom348 num veículo de quatro rodas. Unir dez nações em um império pode ser tão factível quanto trocar dez shillings por um half-sovereign.349 Mas pode também ser tão absurdo quanto transformar dez terriers em um mastiff. A questão em todos os casos não é uma questão de união ou ausência de união, mas de identidade ou ausência de identidade. Devido a certas causas históricas e morais, duas nações podem se unir para ajuda mútua. Assim, Inglaterra e Escócia passam o tempo em mútuos cumprimentos corteses; mas as forças e esferas sociais correm distintas e em paralelo, e conseqüentemente não colidem. A Escócia continua a ser letrada e calvinista; a Inglaterra continua a ser iletrada e feliz. Mas, devido a uma outra moral e a outras causas políticas, as duas nações podem estar unidas apenas para se dificultarem; suas linhas se interceptam, não são paralelas. Assim, por exemplo, a Inglaterra e a Irlanda estão tão unidas que, às vezes, a Irlanda pode governar a Inglaterra, mas nunca pode governar a Irlanda. Os sistemas educacionais, incluindo o último Ato Educacional,350 são aqui na Inglaterra, como no caso da Escócia, bons testes nessa questão. A esmagadora maioria dos irlandeses acredita num rígido catolicismo; a esmagadora maioria dos ingleses acredita num vago protestantismo. O partido irlandês no Parlamento da Grã-Bretanha é suficientemente grande para impedir que a educação inglesa seja indefinidamente protestante, mas pequeno o suficiente para conseguir que a educação irlandesa seja terminantemente católica. Temos aqui um estado de coisas cuja continuação nenhum homem, em sã consciência, jamais sonharia desejar, não estivesse ele enfeitiçado pelo sentimentalismo da simples palavra “união”.
Este exemplo de união, contudo, não é o exemplo que desejo tomar da arraigada falsidade e futilidade subjacente a todas as suposições do moderno político prático. Desejo falar especialmente de outro engano muito mais geral. Impregna as mentes e discursos de todos os homens práticos de todos os partidos; e é um erro estúpido e infantil construído sobre uma única falsa metáfora. Refiro-me ao moderno discurso universal sobre jovens nações e sobre novas nações; sobre os Estados Unidos serem jovens, sobre Nova Zelândia ser nova. Tudo é um jogo de palavras. Os Estados Unidos não são jovens, a Nova Zelândia não é nova. É muito discutível não serem ambos muito mais velhos que a Inglaterra ou a Irlanda.
Certamente podemos usar a metáfora da juventude a respeito dos Estados Unidos ou das colônias, se a empregarmos de forma estrita sugerindo somente a origem recente. Mas se a usarmos (como acontece) para significar vigor, vivacidade, crueza, inexperiência, esperança, vida longa à frente ou qualquer dos atributos românticos da juventude, então, fomos claramente ludibriados por uma rançosa figura de linguagem. Podemos perceber a questão de forma evidente ao aplicá-la a uma outra instituição diferente da nacionalidade independente. Caso um clube chamado, digamos, “Associação do leite e da água gasosa” tivesse sido formado ontem, como acredito que possa ter sido, então, a “Associação do leite e da água gasosa” é certamente um clube jovem no sentido de ter sido estabelecido ontem, mas em nenhum outro sentido. Pode ser inteiramente composto de velhos cavalheiros moribundos. Pode ser, ele mesmo, moribundo. Podemos chamá-lo um clube jovem, pelo fato de ter sido fundado ontem. Podemos chamá-lo um clube muito velho, pelo fato de, provavelmente, falir amanhã. Tudo isso parece muito óbvio quando expomos dessa forma. Quem quer que tenha adotado a ilusão da comunidade-jovem em relação a um banco ou a um açougue deve ser mandado para o manicômio. Contudo, toda a moderna noção política de que os Estados Unidos e as colônias devam ser bastante vigorosos porque são muito novos não tem melhor fundamentação. O fato de os Estados Unidos terem sido fundados muito depois da Inglaterra não torna nem um pouco mais provável que os Estados Unidos não pereçam muito antes da Inglaterra. O fato de a Inglaterra ter existido antes das colônias não faz com que seja mais provável que continue a existir após as colônias. E quando observamos a história atual do mundo, descobrimos que as grandes nações européias, quase invariavelmente, sobreviveram à vitalidade de suas colônias. Ao observamos a história atual do mundo, descobrimos que se há uma coisa que nasce velha e morre jovem, esta é a colônia. As colônias gregas se desmembraram muito antes da civilização grega. As colônias espanholas se desmembraram muito antes da Espanha – tampouco parece haver alguma razão para se duvidar da possibilidade ou mesmo probabilidade de que a civilização colonial, cujas origens se deram graças à Inglaterra, seja muito mais breve e muito menos vigorosa do que a própria civilização inglesa. A nação inglesa ainda estará seguindo o caminho de todas as nações européias quando a raça anglo-saxônica tiver seguido todos os modismos. A questão interessante é certamente esta: no caso dos Estados Unidos ou das colônias, temos provas reais de uma juventude moral ou intelectual além da inquestionável trivialidade de uma juventude meramente cronológica? Conscientemente ou não, sabemos que não temos tais provas, e conscientemente ou não, portanto, continuamos a forjá-las. Dessa pura e plácida invenção, um bom exemplo pode ser encontrado num recente poema do Sr Rudyard Kipling. Ao falar do povo inglês e da Guerra da sul-africana, o Sr Kipling diz que “adulamos as jovens nações por ter homens que podiam atirar e cavalgar”.351 Alguns consideram essa frase ultrajante. Tudo que me interessa aqui é o fato evidente de ela não ser verdadeira. As colônias enviam tropas voluntárias muito úteis, mas não as melhores tropas, nem as que conseguem as maiores proezas. O melhor trabalho de guerra no lado inglês foi feito, como esperado, pelos melhores regimentos ingleses. Os homens que podiam atirar e cavalgar não eram os entusiásticos comerciantes de milho de Melbourne, nem tampouco os entusiásticos balconistas de Cheapside.352 Os homens que podiam atirar e cavalgar eram os homens ensinados a atirar e cavalgar na disciplina do exército permanente de uma grande potência européia. Os colonos, certamente, são tão corajosos e atléticos quanto a média dos homens brancos. Claro que saíram da guerra com razoável crédito. Tudo o que tenho para assinalar aqui é que, para os propósitos da teoria da jovem nação, é necessário sustentar que as forças coloniais foram mais úteis e mais heróicas do que os canhoneiros de Colenso353 ou do Fighting Fifth.354 E dessa argumentação não há, nem nunca houve, a mínima prova concreta.
Uma tentativa análoga é feita, e com um sucesso ainda menor, de representar a literatura das colônias como algo vigoroso, importante, recente. As revistas imperialistas estão constantemente lançando algum gênio de Queensland ou do Canadá, que, supostamente, nos remete a um odor de bosques ou prados. De fato, qualquer pessoa minimamente interessada nesse tipo de literatura (e eu, de minha parte, confesso que me interesso apenas minimamente por esse tipo de literatura), admitirá livremente que as histórias de tais gênios não possuem nenhum odor, a não ser de tinta de prensa tipográfica e de qualidade inferior. Por um grande esforço de imaginação imperial, o generoso povo inglês extrai um sentido implícito nesses trabalhos de força e de novidade. Mas a força e a novidade não estão nos novos escritores; a força e a novidade estão nos velhos corações do povo inglês. Quem quer que os estude imparcialmente saberá que os escritores de primeira classe das colônias não são nem mesmo particularmente novos em seu tom e atmosfera; não estão apenas não produzindo um novo tipo de boa literatura, mas não estão nem mesmo, em nenhum sentido particular, produzindo um novo tipo de má literatura. Os escritores de primeira classe dos novos países são quase exatamente como os escritores de segunda classe dos velhos países. Certamente sentem o mistério das florestas, o mistério dos bosques, pois todo homem simples e honesto sente isso em Melbourne, ou Margate355 ou South St Pancras.356 Mas quando eles escrevem da forma mais sincera e bem-sucedida, não o fazem fundamentados no mistério do bosque, mas fundamentados, clara ou supostamente, em nossa própria civilização romântica cockney.357 O que realmente move suas almas com delicado terror não é o mistério das florestas, mas O Mistério do Coche Hanson.358
Há certamente algumas exceções a essa generalização. Uma exceção realmente notável é Olive Schreiner,359 e muito provavelmente é a exceção que prova a regra. Olive Schreiner é uma romancista ardente, brilhante e realista; mas é tudo isso exatamente porque não é nada inglesa. Seu parentesco tribal é com os Teniers360 e com Maarten Maartens361 – isto é, com um país de realistas. Seu parentesco literário é com a ficção pessimista do continente; com os romancistas cuja própria compaixão é cruel. Olive Schreiner é única colona inglesa que não é convencional, pela simples razão de que a África do Sul é a única colônia inglesa que não é inglesa, e provavelmente nunca o será. E, certamente, há exceções individuais em menor escala. Lembro-me, em particular, de alguns contos australianos do Sr McIlwain362 que realmente eram competentes e eficazes, e que, por esta razão, suponho, não são apresentados ao público ao som de clarins. No entanto, minha argumentação geral, se apresentada a qualquer um que ame as letras, não será refutada caso seja compreendida. Não é verdade que a civilização colonial, como um todo, nos dá ou apresenta qualquer sinal de estar nos dando uma literatura que surpreenderá ou renovará a nossa. Pode ser uma coisa muito boa nutrirmos uma ilusão carinhosa a esse respeito; mas isso é outra história. As colônias podem ter dado à Inglaterra uma nova emoção; somente digo que não deram ao mundo um novo livro.
Ao tocar nas colônias britânicas, não desejo ser mal-entendido. Não estou dizendo que as colônias, ou os Estados Unidos, não têm um futuro, ou que não serão grandes nações. Simplesmente nego todo o conjunto moderno de noções consagradas a respeito disso. Nego que estejam “destinadas” ao futuro. Nego que estejam “destinadas” a ser grandes nações. Nego (é claro) que qualquer coisa humana esteja destinada a ser qualquer coisa. Todas as absurdas metáforas físicas, tais como juventude e velhice, vida e morte, são, quando aplicadas a nações, nada além de tentativas pseudocientíficas de ocultar dos homens a terrível liberdade de suas almas solitárias.
No caso dos Estados Unidos, por certo, um alerta desse tipo é urgente e essencial. Os Estados Unidos, como qualquer outro empreendimento humano, podem certamente, no sentido espiritual, viver ou morrer da forma que escolherem. Mas, no presente momento, a questão que os Estados Unidos têm de considerar muito seriamente não é quão perto estão do nascimento e do início, mas quão perto podem estar do fim. É apenas uma questão verbal se a civilização americana é jovem; a questão sobre estar morrendo pode se tornar muito prática e urgente. Uma vez que tenhamos nos desvencilhado, como inevitavelmente faremos depois de um momento de reflexão, da imaginativa metáfora material envolvida na palavra “jovem”, que evidência verídica temos de que os Estados Unidos são uma força viçosa e não decadente? Possuem uma grande população, como a China; têm muito dinheiro, como a vencida Cartago ou a moribunda Veneza. Estão cheios de agitação e irritabilidade, como Atenas antes da ruína, e todas as cidades gregas ao declinar. São apaixonados por coisas novas; mas os velhos sempre são apaixonados por coisas novas. Os jovens lêem revistas, mas os velhos lêem jornais. Admiram a força e a boa aparência; admiram a enorme beleza primitiva de suas mulheres, por exemplo; mas também foi assim com Roma quando os godos estavam nos portões. Tudo isso é perfeitamente compatível com tédio e declínio. Há três formas ou símbolos principais com que uma nação se pode mostrar essencialmente grande e satisfeita – pelo heroísmo no governo, pelo heroísmo nas armas e pelo heroísmo nas artes. Além do governo, que é a própria forma e corpo de uma nação, a coisa mais significante de qualquer cidadão é a postura artística para com um feriado festivo e a atitude moral para com uma luta – ou seja, a forma de aceitar a vida e a forma de aceitar a morte.
Submetidos a tais testes eternos, os Estados Unidos não parecem, de modo nenhum, puros e intocados. Aparecem com todas as fraquezas e desgastes da moderna Inglaterra ou de qualquer potência ocidental. Na política, estão divididos como a Inglaterra, entre o selvagem oportunismo e a insinceridade. Na guerra e no posicionamento nacional frente à guerra, as similaridades com a Inglaterra são ainda mais manifestas e deprimentes. Podemos dizer, com razoável precisão, que há três estágios na vida de um povo forte. No princípio, é uma pequena potência e luta com pequenas potências. Em seguida se torna uma grande potência e luta contra grandes potências. Então é uma grande potência e luta contra pequenas potências, mas finge que são grandes potências, para reacender as cinzas da antiga emoção e vaidade. Depois disso, o próximo passo é se tornar uma pequena potência. A Inglaterra exibiu esse sintoma de decadência de forma muito visível na guerra com o Transvaal;363 mas os Estados Unidos exibiram-no ainda mais na guerra contra a Espanha.364 Aí foi mostrado, mais aguda e absurdamente do que em qualquer outro lugar, o irônico contraste entre uma escolha descuidada de uma linha de defesa forte e uma escolha cuidadosa de um inimigo fraco. Os Estados Unidos adicionaram aos outros elementos bizantinos e romanos tardios os elementos do triunfo de Caracala,365 o triunfo sobre ninguém.
Mas ao chegarmos ao último teste da nacionalidade, o teste da arte e das letras, o caso é quase terrível. As colônias britânicas não produziram nenhum grande artista; e esse fato pode provar que ainda estão cheias de possibilidades silenciosas e de forças armazenadas. Mas os Estados Unidos produziram grandes artistas. E esse fato certamente prova que estão repletos de uma boa futilidade e do fim de todas as coisas. Quaisquer que sejam os americanos de gênio, não são jovens deuses construindo um novo mundo. Será a arte de Whistler corajosa, primitiva, feliz e impetuosa? Será que o Sr Henry James366 nos infecta com o espírito de um colegial? Não; as colônias ainda não falaram, e estão a salvo. O silêncio delas pode ser o silêncio de um nascituro. Mas, dos Estados Unidos, vem um lamento doce e assustador, tão inequívoco quando o lamento de um moribundo.
344 “White tie” [literalmente, gravata branca] é o código para o vestuário masculino de extrema formalidade. No Brasil costumamos tomar outra peça do vestuário, a casaca, como código de vestuário mais formal. Os trajes formais devem ser usados à noite em eventos como bailes de gala, óperas e banquetes com chefes de Estado, cerimônias protocolares, entre outros, e só podem ser usados ao anoitecer, ou após as 18h00, o que quer que ocorra primeiro. Optamos por deixar a tradução literal para não inviabilizar o exemplo de Chesterton, embora o autor esteja se referindo ao traje de extrema formalidade.
345 John Albert Kensit (1881–1939), agitador protestante autor de diversos panfletos em que a Igreja de Roma figurava como parte de uma rede de subversão mundial. Era filho do também agitador protestante John Kensit (1853–1902) que fundou Protestant Truth Society em 1889, uma associação totalmente anti-ritualista que se opunha à aproximação ritualística da Igreja Católica Romana com a Igreja da Inglaterra e a própria “romanização” do país pela excessiva influência do movimento de Oxford.
346 O jornalista, escritor e político francês Honoré Gabriel Riqueti (1749–1791), conde de Mirabeau, foi um dos líderes da Revolução Francesa, destacando-se como líder do grupo de moderados que pretendiam uma transição do absolutismo para a monarquia constitucional. Por conta de sua retórica, recebeu o epíteto de “orador do povo”. O conde de Mirabeau era filho do economista fisiocrata e filósofo iluminista, Victor Riqueti (1715–1789), marquês de Mirabeau.
347 Referência ao Unionismo, uma crença na conveniência de um completo relacionamento constitucional e institucional entre a Irlanda e a Grã-Bretanha baseado nos termos do Act of Union de 1800, que fundiu os referidos países, em 1801, como Reino Unido. A expressão deve sua origem às campanhas feitas pelos opositores da autonomia irlandesa ao final do século XIX e início do século XX, para evitar a criação de um parlamento autônomo totalmente irlandês dentro do Reino Unido. Por causa do desejo de manter o Act of Union como havia sido criado em 1800, sem qualquer sistema de delegação, ficaram conhecidos como unionistas.
348 Carruagens de duas rodas que tomaram o nome de seu inventor, Joseph Alysius Hansom (1802–1882). Carregavam dois passageiros e o cocheiro ficava do lado de fora, atrás da cabine dos passageiros. Nas duas últimas décadas do século XIX tais veículos infestaram as ruas de Londres.
349 O sistema monetário inglês na época de Chesterton não seguia o sistema centesimal internacional, só adotado em 1971. Assim, uma moeda de shilling (ou xelim) equivalia a doze pence (ou pêni) e vinte shillings faziam uma libra. Um sovereign (soberano) era uma moeda com a efígie do soberano, mas cunhada em ouro e equivalia a uma libra (ou vinte shillings). Portanto, dez moedas de shilling equivaliam a uma moeda de half-sovereign (meio soberano).
350 Referência ao Ato Educacional de 1902, já mencionado no cap. I do presente livro.
351 “We fawned on the younger nations for the men that could shoot and ride”. É um verso do poema de Rudyard Kipling (1865–1936) chamado The Islanders, de 1902, que apareceu pela primeira vez no Times. Por externar uma virulenta fúria, o poema não foi bem recebido pelo público, que o tomou como uma afronta aos valores da sociedade. O verso 30, citado por Chesterton, referia-se aos 30.000 voluntários das colônias que lutaram ao lado dos ingleses na Guerra dos Bôeres. Como homens de interior, alguns colonos possuíam talentos que, se comparados aos voluntários ingleses da cidade, pareciam superiores, como, por exemplo, atirar com precisão e cavalgar com destreza.
352 Cheapside era considerada, na época de Chesterton, como a maior avenida da cidade de Londres. Nela se concentravam os principais mercados produtores de Londres.
353 Cidade sul-africana em torno da qual se lutou a Batalha de Colenso (15 de dezembro de 1899), última de três batalhas que infligiu ao Exército Britânico uma derrota humilhante na Guerra dos Bôeres. Embora a coragem do general Sir Redvers Henry Buller (1839–1908) tenha sido heróica, foi inútil tentar cruzar o rio Tugela, a oeste, para libertar a cidade de Ladysmith. Nesta ocasião as tropas britânicas tiveram 1.127 baixas e foram forçadas a abandonar 10 peças de artilharia, capturadas pelos bôeres.
354 Referência a 5ª Brigada, comandada pelo general Arthur Fitzroy Hart-Synnot (1844–1910) que marchou, no episódio de Colenso, com a tropa até uma curva fechada do rio Tugela e fracassou, da mesma forma que os comandados pelo general Redvers Buller (1839–1908). Tal manobra os levou a receber fogo cruzado em três frentes.
355 Cidade litorânea no distrito de Thanet em East Kent, na Inglaterra.
356 Bairro na parte central de Londres.
357 Termo que designa tanto a região do East End londrino quanto seus habitantes, que possuem sotaque e dialeto próprios.
358 Referência ao romance The Mystery of a Hanson Cab, do romancista inglês Ferguson Wright Hume (1859–1932), publicado em 1886. A história se passa na cidade de Melbourne na Austrália, na época da corrida do ouro. Foi considerado o romance policial mais vendido do século XIX e inspirou A. Conan Doyle (1859–1930) a escrever histórias do gênero.
359 Olive Emile Albertina Schreiner (1855–1920) foi uma escritora sul-africana, pacifista e ativista política. Ficou conhecida pelo romance The Story of an African Farm de 1883, em que abordava questões como o agnosticismo e o modo de tratar as mulheres.
360 Família de pintores flamengos dos séculos XVII e XVIII.
361 Nome artístico do escritor Jozue Marius Willem van der Poorten Schwartz (1858–1915), holandês de nascimento, mas inglês por vocação. Escreveu histórias policiais como The Black Box Murder (1890), entre outros romances e contos.
362 Na verdade, Chesterton erra a grafia do nome do escritor irlandês Herbert C. MacIlwaine (1859–?) que passou boa parte da vida na Austrália e escreveu Martyrs of Empire or Dinkinbar: A Romance of an Australian Stockrider (1898) e muitos outros romances ambientados na colônia. Chesterton deveria estar se referindo à coletânea de histórias do autor, lançada em 1903, chamada The Undersong.
363 Guerra movida pelos ingleses, na tentativa de anexar a República do Transvaal, em 1877. Como os colonos não aceitaram a anexação, foi declarada a Primeira Guerra dos Bôeres (1880–1881), mas o Transvaal só se tornou inglês na Segunda Guerra dos Bôeres (1899–1902).
364 A Guerra Hispano-Americana ocorreu em 1899, que acabou na vitória americana e no controle das antigas colônias espanholas no Caribe e no oceano Pacífico.
365 Marcus Aurelius Antoninus (188–211), conhecido como Caracala, foi imperador romano de 198 a 217 e se notabilizou pela crueldade. Era filho do imperador Lúcio Sétimo Severo (145–211), que chegou ao trono após uma guerra civil. Após a morte do pai, Caracala assassinou o irmão Públio Sétimo Geta (189–211) para não ter de dividir o trono. O reinado de Caracala foi descrito como “uma série de crueldades e extorsões”.
366 Henry James (1843–1916) foi um escritor norte-americano, naturalizado britânico em 1915. Foi uma das principais figuras do realismo na literatura do século XIX. Era filho do teólogo Henry James Sênior (1811–1882) e irmão do importante filósofo e psicólogo William James (1842–1910).
CAPÍTULO XIX
Os romancistas dos bairros
pobres e os necessitados
EM NOSSA ÉPOCA, permitimos que estranhas idéias sobre a verdadeira natureza da doutrina da fraternidade humana surgissem. A verdadeira doutrina é algo que, com todo o humanitarismo moderno, não entendemos claramente, e muito menos praticamos. Não há nada, por exemplo, particularmente antidemocrático no ato de lançarmos, com um pontapé, nosso mordomo escada abaixo. Pode ser errado, mas não chega a ser indiferente. Em certo sentido, esbofeteá-lo ou chutá-lo pode ser considerado uma confissão de igualdade: estamos nos envolvendo corpo-a-corpo com o mordomo; quase lhe concedendo o privilégio de um duelo. Não há nada de antidemocrático, embora possa haver algo despropositado, em esperar grande coisa de um mordomo e ficarmos tomados de surpresa quando lhe falta estatura divina. O que é realmente antidemocrático e indiferente é deixar de supor que o mordomo seja um tanto quanto divino. O que é realmente antidemocrático e indiferente é dizer, como muitos humanistas modernos fazem: “Certamente não devemos levar a mal os que estão num plano inferior”. Considerando todos os fatos, podemos dizer, sem nenhum exagero, que a coisa realmente antidemocrática e indiferente é o hábito comum de não darmos pontapés no mordomo.
Esta afirmação parecerá jocosa a muitos porque uma imensa porção do mundo moderno não compreende seriamente o sentimento democrático. Democracia não é filantropia; não é nem mesmo altruísmo ou reforma social. A democracia não se funda na compaixão pelo homem comum; a democracia se funda na reverência ao homem comum, ou, caso queiram, no temor dele. Não defende o homem por ser muito miserável, mas o defende por ser muito sublime. Não se opõe a que o homem seja um escravo, assim como não se opõe a que seja um rei, pois seu sonho é sempre o sonho da primeira república romana, uma nação de reis.
Depois da verdadeira república, a coisa mais democrática do mundo é o despotismo hereditário. Com isso pretendo definir um despotismo em que não haja absolutamente nenhum traço, qualquer que seja, de qualquer disparate a respeito de uma adequação intelectual ou aptidão especial para o cargo. Despotismo racional – isto é, despotismo seletivo – é sempre uma maldição para a humanidade, porque com isso temos o homem comum incompreendido e mal-governado por qualquer gatuno que não tem, absolutamente, nenhum respeito fraternal. Mas o despotismo irracional é sempre democrático, porque é a entronização do homem comum. A pior forma de escravidão é o chamado cesarismo, ou a escolha de algum homem audaz e brilhante como déspota por ser adequado ao cargo. Isso significa que os homens escolhem um representante não porque os representa, mas porque não o faz. Homens confiam em homens comuns como George III367 ou William IV,368 porque também são homens comuns e as pessoas os entendem. Os homens confiam em homens comuns porque confiam em si mesmos. Mas os homens confiam em grandes homens porque não confiam em si mesmos. E assim, a adoração de grandes homens sempre aparece em tempos de fraqueza e covardia. Não ouvimos falar de grandes homens até o momento em que todos os homens sejam minúsculos.
O despotismo hereditário é, então, em essência e sentimento, democrático porque aleatoriamente escolhe alguém da humanidade. Se não diz que todo homem pode governar, declara outra coisa muito democrática: que qualquer homem pode governar. A aristocracia hereditária é algo muito pior e muito mais perigoso, porque o número de integrantes e a multiplicidade de uma aristocracia, às vezes, tornam possível que ela se faça passar por uma aristocracia do intelecto. Alguns dos membros provavelmente serão mais inteligentes e assim, de qualquer maneira, formarão uma aristocracia intelectual dentro da aristocracia social. Governarão a aristocracia pela virtude do intelecto, e governarão o país pela virtude da aristocracia. Assim, uma dupla falsidade será estabelecida, e milhões de “imagens de Deus”, que, felizmente para as esposas e famílias, não são nem cavalheiros nem homens inteligentes, serão representados por um homem como o Sr Balfour369 ou o Sr Wyndham,370 porque ele é muito cavalheiro para ser meramente chamado de inteligente, e muito inteligente para ser chamado de cavalheiro. Contudo, mesmo uma aristocracia hereditária pode apresentar, por uma espécie de acidente, de tempos em tempos, algumas das qualidades democráticas básicas que pertencem ao despotismo hereditário. É divertido pensar quanta criatividade conservadora tem sido desperdiçada na defesa da Câmara dos Lordes por homens que tentam desesperadamente provar que a Câmara dos Lordes é formada de homens inteligentes. Há uma boa defesa da Câmara dos Lordes, embora os admiradores da nobreza sejam estranhamente reservados em usá-la, e tal defesa é dizer que a Câmara dos Lordes, na integralidade das forças, é formada de homens estúpidos. Seria realmente uma defesa plausível dessa instituição, de outra forma indefensável, ressaltar que os homens inteligentes da Câmara dos Comuns, os quais devem o poder à inteligência, tenham, em última instância, de ter as decisões verificadas pelos homens comuns da Câmara dos Lordes, que devem o poder ao acaso. Existiriam, certamente, muitas respostas a tal alegação, como, por exemplo, a de que a Câmara dos Lordes não é mais a Casa dos Lordes, mas a casa dos comerciantes e financistas, ou que o grosso da nobreza comum não vota e, então, deixa a casa aos pedantes, aos especialistas e aos velhos e loucos cavalheiros cheios de passatempos. Mas, em algumas ocasiões, a Câmara dos Lordes, mesmo com todas as desvantagens, é num certo sentido representativa. Quando todos os nobres se juntaram para votar contra a segunda Home Rule Bill371 do Sr Gladstone, por exemplo, aqueles que disseram que os nobres representavam o povo inglês estavam perfeitamente certos. Os estimados anciãos, que por acaso nasceram nobres, foram, naquele momento, e a respeito daquela questão, a verdadeira contraparte de todos os prezados anciãos que por acaso nasceram pobres ou honrados e educados homens da classe média. Aquela multidão de nobres realmente representou o povo inglês – isto é, foi honesta, ignorante, vagamente exaltada, quase unânime e, obviamente, errada. É claro que a democracia racional é melhor como expressão da vontade pública do que o método hereditário aleatório. Caso devamos ter qualquer tipo de democracia, que seja a democracia racional. Mas, caso tenhamos de ter qualquer tipo de oligarquia, que seja a oligarquia irracional. Pois, assim, pelo menos, estaremos sendo governados por homens.
No entanto, o necessário para o funcionamento adequado da democracia não é simplesmente o sistema democrático, ou mesmo a filosofia democrática, mas a emoção democrática. A emoção democrática, como as coisas mais elementares e indispensáveis, é algo difícil de descrever em qualquer época. Mas, em nossa era ilustrada, é especialmente difícil de descrever, pela simples razão de que é particularmente difícil de encontrar. Essa emoção é uma determinada atitude instintiva que sente as coisas com as quais todos concordam como importantes demais para ser ditas, e todas as coisas com as quais discordam (tais como a mera inteligência) como sem importância alguma para ser ditas. O mais próximo dessa atitude na vida comum seria a prontidão com que devemos levar em conta a simples humanidade, qualquer que seja a circunstância, de catástrofe ou de morte. Devemos dizer, após uma descoberta um tanto perturbadora, “Há um homem morto debaixo do sofá”. Provavelmente não diremos “Há um homem morto de considerável requinte debaixo do sofá”. Dizemos “Uma mulher caiu na água”. Não diríamos “Uma mulher altamente ilustrada caiu na água”. Ninguém diria “Os restos de um brilhante pensador estão no quintal”. Ninguém diria “A menos que você corra e o impeça, um homem de excelente ouvido para música pulará daquele despenhadeiro”. Mas a emoção, que todos guardamos em relação a coisas como nascimento e morte, é natural e permanente para algumas pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Foi natural para São Francisco de Assis.372 Foi natural para Walt Whitman. Não podemos esperar que tal emoção, nessa gradação estranha e esplêndida, permeie toda a comunidade ou toda a civilização; mas uma comunidade pode tê-la muito mais que outra comunidade, uma civilização muito mais que outra. Talvez nenhuma comunidade a tenha tido tão pouco como os primeiros franciscanos. Talvez nenhuma comunidade a tenha tido tão pouco quanto a nossa.
Tudo em nossa época, quando examinado com cuidado, tem essa qualidade fundamentalmente não-democrática. Em religião e moral devemos admitir, em abstrato, que os pecados das classes educadas são tão numerosos quanto, ou talvez mais numerosos que, os pecados do pobre e ignorante. Mas, na prática, a grande diferença entre a ética medieval e a nossa é que a nossa concentra a atenção nos pecados dos ignorantes e, praticamente, nega que os educados tenham pecados. Sempre falamos sobre o pecado da intemperança em relação à bebida, pois é muito óbvio que o pobre o comete mais que o rico. Mas sempre negamos que exista algo como o pecado do orgulho, pois é muito óbvio que o rico o comete mais que o pobre. Estamos sempre prontos a transformar um homem educado, que visite os casebres para dar gentis conselhos aos pobres, num santo ou num profeta. Mas a idéia medieval de santo ou profeta era algo completamente diferente. O santo ou profeta medieval era um homem iletrado que entrava nas casas elegantes para dar gentis conselhos aos homens educados. Os antigos tiranos tinham suficiente insolência para despojar os pobres, mas não tinham suficiente insolência para fazer-lhes pregações. Eram os cavalheiros que oprimiam os bairros pobres; mas eram os bairros pobres que exortavam os cavalheiros. E assim como não somos democráticos em fé e moral, pela nossa própria natureza de propósito em tais questões, não somos democráticos no tom da prática política. Prova suficiente de que não somos essencialmente democráticos é estarmos sempre imaginando o que fazer pelos pobres. Se fôssemos democráticos, estaríamos imaginando o que os pobres fariam por nós. Nossa classe governante está sempre dizendo: “Que leis devemos fazer?”. Num estado puramente democrático, sempre estariam dizendo: “Que leis podemos obedecer?”. Um estado impecavelmente democrático talvez nunca tenha existido. No entanto, até mesmo o período feudal era, na prática, muito mais democrático, pois todo potentado feudal sabia que qualquer lei que fizesse iria, com toda a probabilidade, surtir efeito sobre ele. As vestes luxuosas poderiam acabar, caso desobedecesse a uma lei suntuária.373 Sua cabeça poderia ser cortada por alta traição. Mas as leis modernas são quase sempre leis feitas para produzir efeito sobre a classe governada, mas não sobre a governante. Temos leis de licenciamento de bares, mas não leis suntuárias. Isto é, temos leis contra a festividade e a hospitalidade dos pobres, mas não contra a festividade e a hospitalidade dos ricos. Temos leis contra a blasfêmia – isto é, contra um tipo de falar grosseiro e ofensivo a que ninguém, exceto um homem rude e obscuro, provavelmente se entregaria. Mas não temos leis contra a heresia – isto é, contra o envenenamento mental de toda a população, em que apenas um homem próspero e proeminente teria provável sucesso. O mal da aristocracia não é necessariamente infligir coisas más ou sofrimentos dolorosos; o mal da aristocracia é colocar tudo nas mãos de uma classe de pessoas que sempre pode impor o que nunca sofrerá. O que quer que nos inflijam, seja de boa ou má intenção, faz com que se tornem igualmente levianos. O argumento contra a atual classe governante inglesa não é, de maneira alguma, ser egoísta; se quisermos, podemos considerar as oligarquias inglesas por demais altruístas. O principal argumento contra tal classe é simplesmente que, ao legislar para todos, se exclui da legalidade.
Somos antidemocráticos, então, em religião, como provam os esforços para “elevar” os pobres. Somos antidemocráticos em governo, como prova a tentativa inocente de governá-los bem. Mas, acima de tudo, somos antidemocráticos em literatura, como prova a torrente de romances e estudos profundos sobre os pobres que jorra de nossas editoras todo mês. E quanto mais “moderno” o livro, mais certamente estará desprovido do sentimento democrático.
Um homem pobre é um homem que não tem muito dinheiro. Esta pode ser uma descrição simples e desnecessária, mas diante da grande massa de ficção e de fatos modernos parece, realmente, muito necessária. Muitos de nossos realistas e sociólogos falam a respeito do homem pobre como se fosse um polvo ou um crocodilo. A necessidade de estudar a psicologia da pobreza é a mesma de estudar a psicologia do mau humor, ou a psicologia da vaidade, ou a psicologia da coragem. Um homem deve conhecer algo das emoções de um homem ofendido, não por estar ofendido, mas simplesmente por ser homem. E deve conhecer algo das emoções de um homem pobre, não por ser pobre, mas simplesmente por ser homem. Portanto, minha primeira objeção a qualquer escritor que esteja descrevendo a pobreza é ter estudado o assunto. Um democrata o teria imaginado.
Muitas coisas duras têm sido ditas sobre os religiosos que se imiscuem com os pobres e das visitas políticas e sociais à pobreza, mas certamente a mais desprezível das visões são as incursões artísticas na pobreza. O pregador religioso está supostamente interessado no feirante porque é um homem; o político, num sentido obscuro e perverso, está interessado no feirante porque é um cidadão; somente o infeliz escritor está interessado no feirante por ser feirante. Ainda assim, enquanto estiver à procura de meras impressões, ou, em outras palavras, de modelos para seus escritos, o ofício, embora tedioso, é honesto. Todavia, quando se empenha em fazer crer que está descrevendo o íntimo espiritual de um feirante, com seus vícios obscuros e virtudes delicadas, então devemos alegar que tal pretensão é absurda; devemos lembrá-lo de que é um jornalista e nada mais. Tem muito menos autoridade psicológica que até mesmo o mais tolo dos missionários. Pois, no sentido literal e derivado, é um jornalista,374 ao passo que o missionário é um “eternalista”. O missionário, pelo menos, finge ter uma idéia do lugar do homem em todas as eras; o jornalista apenas finge ter uma idéia disso no dia-a-dia. O missionário diz que o pobre está na mesma condição de todos os homens. O jornalista trata de dizer aos outros o quão diferente de todos é o pobre.
Caso os romances modernos sobre os bairros pobres, tais como os contos do Sr Arthur Morrison,375 ou os sumamente talentosos romances do Sr Somerset Maugham,376 se destinem a ser sensacionais, só posso dizer que esse é um objetivo razoável e nobre, e que tais autores o alcançam. Uma sensação, um choque para a imaginação, como o contato com a água fria, é sempre uma coisa boa e estimulante; e, sem dúvida, os homens sempre procurarão essa sensação (entre outras) na forma de estudo das excentricidades de povos remotos e estrangeiros. No século XII, os homens obtinham essa sensação a partir da leitura sobre os cinocéfalos da África.377 No século xx, obtêm-na da leitura sobre os bôeres cabeças-duras da África.378 Os homens do século XII foram certamente, temos de admitir, dentre esses dois tipos, os mais crédulos. Pois não há registros de homens, no século XII, que organizassem uma cruzada sanguinária com o propósito único de alterar a singular formação das cabeças dos africanos. No entanto, pode ser até legítimo, já que tais monstros desapareceram da mitologia popular, haver a necessidade na ficção da imagem do horrível e perigoso morador do East End apenas para manter viva em nós a admiração infantil em relação a peculiaridades externas. Mas a Idade Média (com muito mais senso comum do que hoje seria de bom tom admitir) considerava a história natural uma realidade e não um tipo de piada; considerava a alma uma coisa muito importante. Portanto, embora tivesse uma história natural dos cinocéfalos, não admitia ter uma psicologia para homens com cabeça de cão. Não confessava ter um modelo da mente de um cinocéfalo, compartilhar dos mais delicados segredos, ou reconstruir os devaneios mais celestiais. A Idade Média não escreveu romances sobre a criatura semicanina, atribuindo-lhe todas as mais antigas morbidades e todas as mais recentes novidades. É lícito apresentar os homens como monstros, caso queiramos fazer o leitor ter um sobressalto; e fazer qualquer pessoa se abalar é sempre um ato cristão. Mas não é admissível apresentar homens que se vêem como monstros, ou que têm sobressaltos consigo mesmos. Em suma, a ficção que trata dos bairros mais pobres é muito defensável como ficção estética; não é defensável como fato espiritual.
Um enorme obstáculo obstrui o caminho da realidade nesse tipo de ficção. Os homens que a escrevem, e os que a lêem, são homens de classe média ou alta; ao menos, pertencem às classes vagamente tidas como letradas. Portanto, o fato de a vida ser da forma como o homem requintado a vê prova que ela não pode ser como o homem vulgar a vive. Homens ricos escrevem histórias sobre homens pobres, e descrevem-nos com um falar grosseiro, pesado e rude. Mas se os homens pobres escrevessem romances sobre mim, ou sobre vocês, descreveriam-nos com um falar esganiçado e afetado, tal como somente ouvimos nas duquesas de farsas em três atos. O romancista dos pobres consegue certo efeito porque algum detalhe é estranho ao leitor; mas esse detalhe, pela natureza da situação, não pode ser, por si só, estranho. O detalhe não pode ser estranho à alma que o afirma estudar. O romancista dos bairros pobres tira todo o efeito ao descrever a névoa cinzenta que envolve tanto a fábrica sombria quanto a taverna sombria. Mas, para o homem que o romancista supostamente analisa, deve haver exatamente a mesma diferença entre a fábrica e a taverna que existe, para o homem de classe média, entre o serão no escritório e o jantar no restaurante Pagani’s.379 O romancista das classes operárias fica satisfeito em ressaltar para sua classe particular que uma enxada parece suja e que uma panela de latão parece suja. Mas o homem que o escritor supostamente estuda consegue ver a diferença entre elas exatamente como um caixa de banco vê a diferença entre um livro-caixa e uma edição de luxo de uma obra. O contraste da vida fica inevitavelmente perdido; pois, para nós, as luzes mais brilhantes e as sombras se transformam em cinza pálido. Mas luzes e sombras não são cinza nesta vida nem em qualquer outra. O tipo de homem que realmente consegue expressar os prazeres do pobre também teria de ser o tipo de homem que os conseguisse compartilhar. Em suma, esses livros não testemunham a psicologia da pobreza. São relatórios da psicologia da riqueza e da cultura quando em contato com a pobreza. Não descrevem o estado dos bairros pobres; são apenas a descrição sombria e sinistra do estado dos moradores dos bairros mais carentes.
Podemos dar inumeráveis exemplos da qualidade essencialmente antipática e impopular de tais escritores realistas. Talvez o exemplo mais simples e óbvio que podemos concluir seja o simples fato de esses escritores serem realistas. Os pobres têm muitos outros vícios, mas, ao menos, nunca são realistas. Os pobres são melodramáticos e românticos inveterados; todo pobre acredita em lugares-comuns em termos de moral e em máximas triviais. Provavelmente seja este o significado último do grande dito, “Bem-aventurados os pobres”.380 Bem-aventurados os pobres, pois sempre estão a ganhar a vida, ou tentando ganhar a vida, como numa peça do Adelphi.381 Alguns educadores e filantropos inocentes (pois até os filantropos podem ser inocentes) expressaram um grande espanto em relação à preferência das massas por romances “água com açúcar” baratos a tratados científicos, bem como se espantam por preferirem melodramas a dramas sociais. O motivo é muito simples. A história realista é certamente mais artística do que a história melodramática. Caso desejemos um tratamento habilidoso, proporções delicadas e uma atmosfera artística única, a história realista tem total vantagem sobre o melodrama. Em tudo o que é claro, brilhante e ornamental, a história realista tem total vantagem sobre o melodrama. Contudo, ao final, o melodrama tem uma vantagem inquestionável sobre a história realista. O melodrama é muito mais parecido com a vida. É muito mais parecido com o homem, e especialmente com o homem pobre. É muito banal e nada artístico quando uma mulher pobre diz, no Adelphi, “Você pensa que vou vender meu próprio filho?”. No entanto, a mulher pobre na Battersea High Road realmente diz “Você pensa que vou vender meu próprio filho?”. Dizem isso em todas as ocasiões possíveis e podemos ouvir uma espécie de murmúrio ou balbucio ao longo de toda a rua. Um exemplo muito obsoleto e débil de arte dramática (se é que isso é arte) ocorre quando um trabalhador confronta o chefe e diz: “Sou homem!”. No entanto, um trabalhador realmente diz “sou homem”, umas duas ou três vezes por dia. De fato, pode ser maçante ouvir os melodramas dos pobres na ribalta; no entanto, isso ocorre porque sempre podemos ouvir pobres sendo melodramáticos nas ruas. Em suma, se é maçante o melodrama, ele o é por ser demasiado preciso. De certa forma, um problema similar aparece no caso dos romances colegiais. Stalky and Co.,382 do Sr Kipling, é muito mais divertido (caso falemos de divertimento) do que Eric; or, Little by Little, do Deão Farrar.383 Mas Eric é incomensuravelmente mais parecido com a vida escolar. Pois a real vida escolar, a verdadeira mocidade, está repleta de coisas que abundam em Eric – pedantismo, piedade imperfeita, pecados tolos, uma tentativa débil, mas contínua, de ser heróico, numa palavra: um melodrama. E se desejarmos lançar bases firmes para qualquer esforço de ajuda aos pobres, não devemos nos tornar realistas e vê-los de uma perspectiva externa. Devemos nos tornar melodramáticos e vê-los de uma perspectiva interna. O romancista não deve tomar o caderno de notas e dizer: “Sou um especialista”. Não; deve imitar o trabalhador na peça do Adelphi. Deve bater no peito e dizer: “Sou homem!”.
367 George William Frederick (1738–1820) foi rei da Grã-Bretanha e rei da Irlanda, coroado em 1761. Foi durante o período de seu reinado que o mundo assistiu à Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. Embora tenha sido visto como tirano pelos colonos norte-americanos, e, posteriormente, pelos historiadores do século XIX, na Inglaterra era retratado pelos satiristas como o “fazendeiro George”, por preferir interesses mundanos aos grandes temas da política.
368 William Henry (1765–1837). Terceiro filho de George III e, posteriormente, rei William IV. Também tinha hábitos caseiros e teve dez filhos ilegítimos com uma atriz com quem viveu por vinte anos. Posteriormente contraiu matrimônio com a duquesa Adelaide de Saxe-Meiningen (1792–1849), cujos filhos não chegaram à idade adulta. Foi sucedido no trono pela sobrinha, que veio a ser coroada como Rainha Vitória.
369 Arthur James Balfour (1848–1930), político conservador, foi líder da Câmara dos Comuns na década de 1890, membro do gabinete de negociações da República do Transvaal, em 1899, e primeiro-ministro da Inglaterra de 1902 a 1905.
370 George Wyndham (1863–1913), político conservador e homem de letras. Foi secretário privado do Sr Balfour e Secretário para a Irlanda de 1900 a 1905.
371 Lei de 1893, escrita e submetida ao parlamento por Sr William E. Gladstone (1809–1898), então primeiro-ministro. Foi aprovada pela Câmara dos Comuns, mas vetada pela Câmara dos Lordes, e tentava estabelecer as bases para o governo autônomo da Irlanda.
372 Batizado como Giovanni di Pietro di Bernardonne (1181–1226), posteriormente teve o nome mudado para Francisco. Após de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para a vida religiosa e fez votos de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos Frades Menores, mais conhecidos como Franciscanos – verdadeiros renovadores do catolicismo de seu tempo. Até hoje é um santo católico de enorme prestígio.
373 Lei de exceção que, em época de crise econômica, restringe gastos do governo e particulares em itens luxuosos ou supérfluos.
374 O jogo de palavras aqui se explica pela origem do termo "jornal", derivado do italiano giornale, ou seja, o que se refere a um único dia.
375 Arthur Morrison (1863–1945) foi um jornalista e romancista nascido no East End londrino, conhecido por escrever histórias dos bairros pobres de Londres, tais como Tales of Mean Streets (1864) e A Child of the Jago (1896).
376 William Somerset Maugham (1874–1965) foi um famoso romancista e dramaturgo inglês. Ficou mais conhecido pelos romances escritos após 1905, mas usou sua experiência de estudante de medicina como pano de fundo para o romance naturalista Liza of Lambeth [em português, O pecado de Liza], de 1897.
377 Os mitos com cinocéfalos tiveram diversas representações durante a Idade Média, numa imagem evocativa de magia e brutalidade dos habitantes de lugares distantes: Agostinho (354–430), Isidoro de Sevilha (560–636), Paulo Diácono (720–799), Adão de Bremen (1050–1085?), entre outros, descreveram cinocéfalos como verdadeiros antropófagos. São Jerônimo (347–420) confirmou a existência desses seres e, na Igreja Ortodoxa, existem certos ícones que retratam a figura de São Cristóvão (século III), antes da conversão, com cabeça de cachorro. No Reino Unido foram encontradas algumas esculturas célticas representando homens com cabeças de lobos.
378 Há aqui um jogo de palavras: dog-headed, que significa cinocéfalo ou cabeça de cão – uma figura mitológica – e pig-headed [literalmente, cabeça de porco], que significa obstinado, cabeçudo.
379 Restaurante na Great Portland Street, no West End londrino, famoso por reunir vários grupos, de artistas e músicos a maçons. Parte do restaurante foi bombardeada em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, mas o estabelecimento existe até os dias de hoje. No restaurante acontecia, por exemplo, os encontros do Omar Khayyam Club, que desde 1892 e nos quarenta anos seguintes lá se reuniu para comer e beber em homenagem ao poeta persa e a seu tradutor para o inglês (sobre a análise de Chesterton a respeito de Omar Khayyam, ver capítulo VII).
380 Lc 6,20.
381 O teatro Adelphi, que existe até os dias de hoje, foi fundado em Londres, em 1806, e ficou famoso por seus melodramas.
382 Livro publicado em 1899 como uma coletânea de contos que relata as experiências colegiais de meninos ingleses numa Boarding School. Uma das personagens foi baseada no próprio autor e as histórias têm por base suas experiências como aluno no United Service College.
383 Frederic William Farrar (1831–1903), clérigo e, posteriormente, deão de Canterbury. Escreveu o referido romance colegial, em 1858, em que descreve as impudicícias colegiais de Eric numa escola pública. No entanto, já no prefácio o autor justifica a obra da seguinte forma: “A história de Eric foi escrita com um único propósito: inculcar de forma vívida a pureza interior e o propósito moral, por intermédio da história de um menino que apesar da inerente nobreza de disposição, cai em loucuras e maldades até aprender a buscar o socorro que vem do alto”.
CAPÍTULO XX
Observações finais sobre
a importância da Ortodoxia
SE A INTELIGÊNCIA HUMANA pode evoluir ou não, é um problema muito pouco discutido, e não há nada mais perigoso do que fundamentar nossa filosofia social numa teoria que é discutível, mas que não foi discutida. Mas se admitirmos, só para argumentar, que houve no passado, ou que haverá no futuro, algo que se assemelhe ao crescimento ou ao aprimoramento da inteligência humana propriamente dita, haverá ainda um forte óbice a ser levantado contra a versão moderna do aprimoramento. O vício da noção moderna do progresso mental é estar sempre relacionado ao rompimento de laços, à abolição de fronteiras, à rejeição de dogmas. Mas se houver algo parecido com um crescimento mental, isso deve significar crescimento em direção a convicções cada vez mais definidas, que mais e mais vão se tornando dogmas. O cérebro humano é uma máquina de tirar conclusões; se não puder concluir, enferruja. Quando ouvimos falar de um homem inteligente demais para ter crenças, escutamos algo que se assemelha a uma contradição em termos. É como ouvir a respeito de um prego bom demais para fixar um carpete; ou de um ferrolho firme demais para manter a porta trancada. O homem dificilmente pode ser definido, à moda de Carlyle, como um animal que fabrica ferramentas. Formigas, castores e muitos outros animais fabricam ferramentas, no sentido de utensílio. O homem pode ser definido como um animal que fabrica dogmas. À medida que empilha doutrina sobre doutrina e conclusão sobre conclusão, ao formar algum enorme esquema filosófico e religioso, está, no único sentido legítimo de que a expressão é capaz, se tornando mais e mais humano. Ao abandonar doutrina após doutrina, num refinado ceticismo, ao recusar filiar-se a um sistema, ao dizer que superou definições, ao dizer que duvida da finalidade, quando, na própria imaginação, senta-se como Deus, não professando nenhum credo, mas contemplando todos, então está, por intermédio do mesmo processo, imergindo lentamente na indistinção dos animais errantes e da inconsciência da grama. Árvores não têm dogmas. Nabos são particularmente tolerantes.
Então, caso deva haver avanço mental, deverá ser, repito, um avanço mental na construção de uma filosofia de vida definida. E esta filosofia de vida deve ser a correta, e as demais filosofias, erradas. De todos, ou quase todos, os talentosos escritores modernos que brevemente examinei neste livro, uma agradável verdade é que cada um deles tem uma visão construtiva e afirmativa, refletem seriamente sobre tal visão, pedindo-nos para levá-la em conta com seriedade. Não há nada simplesmente cético e progressista no Sr Rudyard Kipling. Não há nada tolerante no Sr Bernard Shaw. O paganismo do Sr Lowes Dickinson é mais sério do que qualquer cristianismo. Mesmo o oportunismo do Sr H.G. Wells é mais dogmático do que o idealismo de todos os outros. Alguém reclamou com Matthew Arnold, creio, que ele estava se tornando tão dogmático quanto Carlyle. Arnold respondeu: “Isso pode ser verdade; mas escapa-lhe uma diferença óbvia: Sou dogmático e estou certo, Carlyle é dogmático e está errado”. O grande bom humor da observação não deve ocultar a perpétua seriedade e senso comum; nenhum homem deve escrever algo, ou mesmo falar algo, a menos que pense estar com a verdade e que os outros estejam no erro. Da mesma forma, afirmo que sou dogmático e estou certo, ao passo que o Sr Shaw é dogmático e está errado. Mas meu principal propósito, no momento, é fazer notar que os principais escritores sobre os quais escrevi se apresentam sã e corajosamente como dogmáticos, como fundadores de um sistema. Pode ser verdade que a coisa que mais me interessa no Sr Shaw seja o fato de o Sr Shaw estar errado. Mas é igualmente verdade que a coisa que mais interessa ao Sr Shaw é o fato de estar certo. O Sr Shaw pode não ter ninguém ao seu lado, a não ser ele mesmo; mas não se preocupa consigo mesmo. Ele se importa com a igreja grandiosa e universal da qual é o único membro.
Dois homens de talento típicos que mencionei aqui, cujos nomes usei no início do presente livro, são muito simbólicos, ao menos porque mostraram que os mais ferozes dogmáticos podem se tornar os melhores artistas. Na atmosfera fin de siècle, todos bradavam por uma literatura livre de todas as causas e de todos os credos éticos. A arte produziria assim apenas primorosas obras, e o tom daqueles dias foi, em especial, uma demanda por peças e histórias brilhantes. E quando conseguiram, obtiveram-nas de alguns moralistas. Os melhores contos foram escritos por um homem que tentava pregar o imperialismo. As melhores peças foram escritas por um homem que tentava pregar o socialismo. Toda a arte de todos os artistas pareciam muito pequenas e tediosas, comparadas à arte que era subproduto da propaganda.
A razão é, realmente, muito simples. Uma pessoa não pode ser sábia o bastante para ser um grande artista sem ser sábia o bastante para desejar ser um filósofo. Um homem não consegue a energia para produzir uma boa arte sem ter energia para desejar ir além. Um pequeno artista fica contente com a arte; um grande artista não fica contente com nada, a não ser com tudo. Assim, descobrimos que quando verdadeiras forças, boas ou más, como Kipling ou G.B.S.,384 entram em nossa arena, trazem consigo não somente uma arte surpreendente e cativante, mas dogmas surpreendentes e cativantes. Interessam-se ainda mais, e desejam que nos interessemos mais pelos surpreendentes e cativantes dogmas deles do que pela surpreendente e cativante arte. O Sr Shaw é um bom dramaturgo, mas o que deseja mais do que qualquer outra coisa é ser um bom político. O Sr Rudyard Kipling é, pelo capricho divino e talento natural, um poeta original, mas o que deseja mais do que qualquer outra coisa é ser um poeta convencional. Deseja ser o poeta de seu povo, sangue do seu sangue, carne de sua carne, compreendendo suas origens, celebrando seu destino comum. Deseja ser um poeta laureado, um desejo dos mais razoáveis, honoráveis e de maior espírito público. Tendo sido brindado pelos deuses com a originalidade – isto é, com a capacidade de divergir dos outros – deseja divinamente entrar em concordância com eles. No entanto, o exemplo mais notável de todos, creio que o mais notável acima de qualquer um desses, é o do Sr H.G. Wells. Ele começou numa espécie de infância insana de pura arte. Criou um novo Céu e uma nova Terra, seguindo o mesmo instinto irresponsável com que os homens compram uma nova gravata ou uma abotoadura. Começou brincando com estrelas e sistemas para fazer anedotas fugazes; matou o universo por uma piada. Desde então, pouco a pouco tem se tornado mais sério, e se tornou – como inevitavelmente acontece com os homens ao ficarem mais sérios – cada vez mais limitado. Foi leviano acerca do crepúsculo dos deuses; contudo é sério a respeito dos ônibus de Londres. Foi descuidado em A Máquina do Tempo,385 pois a obra se ocupava apenas do destino de todas as coisas; mas é cuidadoso, até mesmo cauteloso, em Mankind in the Making, pois a obra trata do dia depois de amanhã. Começou com o fim do mundo e isso foi fácil. Agora, foi ao princípio do mundo, e isso é difícil. Mas o principal resultado desse caso é o mesmo dos outros. Os homens que são realmente artistas ousados, artistas realistas, artistas intransigentes, são os que acabam, por fim, escrevendo “com um propósito”. Suponhamos que qualquer crítico de arte cínico e arrojado, qualquer crítico de arte totalmente convicto de que os artistas eram mais formidáveis quando eram mais puramente artísticos, suponhamos que alguém que professou com destreza um esteticismo humanitário, como o fez o Sr Max Beerbohm, ou um esteticismo cruel, como o fez o Sr W.E. Henley, lance os olhos por sobre toda a literatura ficcional que era recente no ano de 1895, e lhe fosse solicitado que escolhesse os três artistas mais vigorosos, promissores e originais e suas respectivas obras artísticas. Creio que teria dito seguramente que as três obras que se sobressaíram pela audácia, por uma verdadeira delicadeza artística, ou por uma lufada de real novidades artísticas fossem Soldiers Three,386 do Sr Rudyard Kipling; Arms and the Man,387 do Sr Bernard Shaw; e A Máquina do Tempo, de um homem chamado Wells. E todos esses homens se mostraram didáticos inveterados. Podemos expressar isso, se assim desejarmos, ao dizer que caso queiramos doutrinas, deveremos buscar os grandes artistas. Mas está claro pela psicologia da questão que esta não é uma afirmação verdadeira; a verdade é que quando buscamos uma arte razoavelmente viva e ousada, temos de ir aos doutrinários.
Ao concluir este livro, portanto, perguntaria, em primeiro lugar, se homens como esses, dos quais tenho falado, não deveriam se sentir insultados por serem tomados por artistas. Ninguém tem o menor direito de simplesmente desfrutar da obra do Sr Bernard Shaw; deve, igualmente, desfrutar da invasão de seu país pela França. O Sr Shaw escreve tanto para nos convencer quanto para nos enfurecer. Nenhuma pessoa vê qualquer problema em ser kiplinguiano sem ser político, e político imperialista. Se um homem está primeiramente conosco, deve ser por causa daquilo que primeiramente está com ele. Se um homem nos convence por completo, deve ser por suas convicções. Caso odiemos um poema de Kipling por paixão política, o odiamos pela mesma razão por que o poeta o amou; caso desgostemos dele pelas opiniões, desgostamos dele pelo melhor de todos os motivos. Se alguém entra no Hyde Park para fazer uma pregação, é permitido que o vaiemos; mas é descortês aplaudi-lo como a um urso de circo. E um artista só é um urso de circo quando comparado ao mais sórdido dos homens que imagina ter algo a dizer.
Há, de fato, uma classe de escritores e pensadores modernos que não pode ser ignorada neste quesito, embora não haja espaço aqui para uma extensa digressão, o que, para dizer a verdade, consistiria num abuso. Refiro-me àqueles que vencem todos os abismos e reconciliam todas as guerras falando sobre “aspectos da verdade”, dizendo que a arte de Kipling representa um aspecto da verdade, e a arte de William Watson,388 outro; que a arte do Sr Bernard Shaw representa um aspecto da verdade, e a arte do Sr Cunningham Grahame,389 outro; que a arte do Sr H.G. Wells representa um aspecto, e a arte do Sr Conventry Patmore390 (digamos), outro. Direi aqui apenas que isso me parece uma evasão que nem sequer teve a preocupação de se disfarçar com palavras engenhosas. Caso falemos de alguma coisa como um aspecto da verdade, é evidente que alegamos conhecer o que é a verdade; da mesma forma que, ao falarmos sobre a pata traseira de um cachorro, alegamos conhecer o que é um cachorro. Infelizmente, o filósofo que fala a respeito de aspectos da verdade geralmente também pergunta “O que é a verdade?”. Muitas vezes até nega a existência da verdade, ou diz ser ela inconcebível à inteligência humana. Como, então, pode reconhecer seus aspectos? Não gostaria de ser um artista que levasse um esboço arquitetônico a um construtor, dizendo: “Este é o aspecto sul do chalé com vista para o mar; contudo, tal chalé não existe”. Não gostaria sequer de ter de explicar, sob tais circunstâncias, que um chalé com vista para o mar pode até existir, mas que é impensável à mente humana. Muito menos gostaria de ser o confuso e absurdo metafísico que afirma ser capaz de ver em todos os lugares aspectos de uma verdade que não existe. É perfeitamente óbvio que há verdades em Kipling, que há verdades em Shaw e Wells. Mas o grau com que as podemos perceber depende estritamente de quão distante estamos de uma concepção interna e definida do que seja a verdade. É ridículo supor que quanto mais cético, mais veremos o bem em todas as coisas. É claro que quanto mais certos estivermos a respeito do que é o bem, mais o veremos em todas as coisas.
Peço, então, que concordemos ou discordemos desses homens. Peço que concordemos com eles ao menos em ter uma crença abstrata. Mas sei que no mundo moderno é comum haver várias objeções indeterminadas a se ter uma crença abstrata, e sinto que não devemos seguir adiante até que tenhamos nos ocupado de algumas delas. A primeira objeção é facilmente apresentada.
Uma incerteza comum em nossos dias no tocante ao uso de convicções extremas é a noção de que tais convicções, especialmente em questões muito abrangentes, foram responsáveis por aquilo que chamamos de intolerância. Contudo, um pouco de experiência direta dissipará tal visão. Na vida real, as pessoas mais intolerantes são as que não têm nenhuma convicção. Os economistas da escola de Manchester391 que discordam do socialismo levam o socialismo a sério. O jovem na Rua Bond392 não sabe o que o socialismo significa, muito menos sabe se concorda com isso, e tem certeza absoluta que os socialistas fazem tempestade em copo d’água. O homem que compreende a filosofia calvinista o bastante para com ela concordar deve compreender a filosofia católica para discordar. É o dúbio homem moderno, que não está certo sobre nada, quem tem certeza de que Dante estava errado. O circunspecto opositor da Igreja Latina ao longo da História, mesmo ao mostrar que ela produziu grandes infâmias, deve saber que produziu grandes santos. É o obstinado comerciante, que não conhece História e não acredita em nenhuma religião, quem está, contudo, perfeitamente convencido que todos os padres são patifes. O salvacionista no Marble Arch393 pode ser intolerante, mas não é demasiado fanático a ponto de não desejar ter alguma afinidade humana comum com o dândi num cortejo de igreja. Mas o dândi no cortejo de igreja é tão beato que não sente a mínima pena do salvacionista no Marble Arch. A intolerância pode ser definida, grosso modo, como a raiva dos homens que não têm opinião. É a resistência apresentada às idéias definidas por um grupo indefinido de pessoas cujas idéias são excessivamente incertas. Tal intolerância pode ser chamada de aterrador furor dos indiferentes. Esse furor dos indiferentes é na verdade uma coisa terrível; causou todas as perseguições muito generalizadas. Neste estágio, não foram os diligentes os que perseguiram; não havia número suficiente deles. Foram os imprudentes que espalharam fogo e opressão pelo mundo. Foram as mãos dos indiferentes que acenderam as tochas; foram as mãos deles que produziram ruína. Da dor de uma certeza passional nasceram algumas perseguições; mas estas produziram não intolerância, mas fanatismo – uma coisa muito diferente e, de certo modo, admirável. A intolerância, em geral, sempre foi a onipotência generalizada dos imprudentes esmagando os precavidos em sangue e escuridão.
Há pessoas, contudo, que tentam achar algo mais profundo do que isso nos possíveis males do dogma. Muitos sentem que uma forte convicção filosófica, embora não produza (do modo como percebem) aquela condição morosa e essencialmente leviana que chamamos intolerância, produz certa atenção, exageros, e alguma impaciência moral, que podemos concordar em chamar de fanatismo. Dizem, de modo geral, que idéias são coisas perigosas. Na política, por exemplo, é comum exortarem contra um homem como o Sr Balfour, ou contra alguém como o Sr John Morley,394 cuja profusão de idéias é perigosa. A verdadeira doutrina neste ponto certamente não é, mais uma vez, difícil de expressar. Idéias são perigosas, mas o tipo de homem para quem são menos perigosas é o homem de idéias. Está familiarizado com as idéias e caminha por elas como um domador de leões. Idéias são perigosas, mas o tipo de homem para quem são mais perigosas é o homem sem idéias. O homem sem idéias verá a primeira delas subir à cabeça como o vinho num abstêmio. Creio que é um erro comum entre os idealistas radicais de meu partido e período sugerir que financistas e comerciantes sejam perigosos para o império porque são demasiado sórdidos e materialistas. A verdade é que financistas e comerciantes são perigosos para o império porque podem ser sensíveis a respeito de qualquer sentimento e idealistas a respeito de qualquer ideal, qualquer um que encontrem a esmo. Assim como um garoto que não sabe muita coisa a respeito de mulheres está facilmente inclinado a tomar uma mulher como a mulher, assim também tais homens práticos, desacostumados com causas, sempre tendem a pensar que caso uma coisa tenha provado ser um ideal, seguramente provou ser o ideal. Muitos seguiram Cecil Rhodes abertamente, por exemplo, porque tinha uma visão.395 Poderiam tê-lo seguido por ter um nariz. Um homem sem qualquer tipo de sonho de perfeição é uma monstruosidade equivalente a um homem sem nariz. As pessoas dizem sobre tal indivíduo, em sussurros quase febris, “Ele sabe o que quer”, o que equivale exatamente a dizer, em idênticos sussurros, “Ele assoa o próprio nariz”. A natureza humana simplesmente não pode subsistir sem algum tipo de esperança e propósito; como o juízo do Antigo Testamento diz, com razão: “Quando não há ideal o povo perece”.396 Mas é justamente porque o ideal é necessário ao homem que o homem sem ideal está em permanente risco de cair no fanatismo. Não há nada que tenha mais probabilidade de deixar o homem aberto às incursões repentinas e irresistíveis de visões desequilibradas do que o cultivo de hábitos comerciais. Todos conhecem homens de negócio inflexíveis que acreditam que a Terra é chata ou sabem que o Sr Kruger397 estava à frente de um grande despotismo militar, ou crêem que os homens são herbívoros ou que Bacon escreveu as peças de Shakespeare. Crenças religiosas e filosóficas são, realmente, tão perigosas quanto fogo, e nada pode tirar-lhes a beleza do perigo. Mas há apenas uma forma de nos protegermos do perigo excessivo que oferecem; devemos imergir na filosofia e nos encharcar de religião.
Então, em poucas palavras, descartamos os perigos antagônicos da intolerância e do fanatismo; a intolerância que seria uma grande indefinição e o fanatismo que seria uma grande atenção. Afirmamos que a cura para a intolerância é a crença; afirmamos que a cura para o idealista são idéias. Conhecer as melhores teorias sobre a existência e escolher dentre elas a melhor (ou seja, escolher o melhor das próprias convicções) nos parece o modo apropriado para não nos tornarmos intolerantes ou fanáticos, mas para sermos algo mais firme que um intolerante e mais terrível que um fanático: uma pessoa de opinião definida. Mas a opinião definida deve, nesse sentido, começar com as questões básicas do pensamento humano, e estas não devem ser descartadas como coisas irrelevantes, tal como acontece com a religião em nossos dias. Mesmo se pensarmos na religião como um problema insolúvel, não deveremos considerá-la irrelevante. Mesmo se não tivermos nenhuma opinião a respeito das verdades definitivas, deveremos sentir que onde quer que tal questão exista no homem, deve ser para essa pessoa algo mais importante que todas as demais coisas. No momento em que uma coisa deixa de ser incognoscível, passa a ser indispensável.
Não pode haver dúvida, penso eu, de que existe em nosso tempo a idéia de que há algo limitado, ou irrelevante, ou mesmo mesquinho em atacar a religião de um homem, ou discuti-la em matéria de política ou ética. Tampouco pode haver dúvida de que tal acusação de limitação é em si mesma quase grotescamente limitada. Tomemos um exemplo de acontecimentos relativamente atuais: sabemos que não raro um homem era considerado um monstro de intolerância e obscurantismo caso suspeitasse dos japoneses, ou lamentasse a ascensão dos japoneses, pelo fato de os japoneses serem pagãos. Ninguém pensaria existir nada de obsoleto ou fanático em desconfiar de um povo por conta das diferenças práticas ou nos mecanismos políticos. Ninguém pensaria ser intolerante dizer de um povo: “Receamos a influência deles, pois são protecionistas”. Ninguém pensaria ser tacanho dizer: “Lamento que tenham progredido porque são socialistas, ou individualistas manchesterianos, ou ferrenhos defensores do militarismo e do serviço militar obrigatório”. Importa muito a diferença de opinião sobre a natureza dos Parlamentos; mas a diferença de opinião a respeito da natureza do pecado não significa absolutamente nada. A diferença de opinião acerca do objeto dos impostos tem muita importância; mas a diferença de opinião acerca da finalidade da existência humana não tem nenhuma importância. Temos o direito de desconfiar de alguém que vive num tipo diferente de municipalidade; mas não temos o direito de suspeitar de um homem que vive num tipo diferente de cosmo. Este tipo de esclarecimento certamente tem relação com o tipo menos esclarecido que se possa imaginar. Para recorrer a uma frase que empreguei anteriormente, isso equivale dizer que tudo tem importância, exceto tudo.398 A religião é exatamente o tipo de coisa que não pode ser deixada de fora – porque inclui tudo. A mais desatenta das pessoas não pode colocar tudo dentro de uma mala de mão e simplesmente esquecer a mala. Gostemos ou não, sempre temos uma idéia geral sobre a existência. E tal visão, gostemos ou não, altera, ou, mais precisamente, cria e envolve tudo que dizemos ou fazemos. Caso consideremos o cosmo como um sonho, consideraremos a questão fiscal como um sonho. Caso consideremos o cosmo como uma piada, consideraremos a catedral de São Paulo como uma piada. Caso tudo seja ruim, então devemos acreditar (se isto for possível) que a cerveja é ruim; caso tudo seja bom, seremos forçados à conclusão um tanto fantástica de que a filantropia científica é boa. Todo homem comum deve defender um sistema metafísico, e crê-lo firmemente. A grande possibilidade é a de que possa ter acreditado nele tão firmemente e por tanto tempo que o tenha esquecido por completo.
A referida situação, com certeza, é possível. De fato, é a situação de todo o mundo moderno. O mundo moderno está repleto de homens que crêem em dogmas de modo tão inflexível que nem mesmo sabem que são dogmas. Pode ser dito até que o mundo moderno, como um corpo coletivo, crê em certos dogmas com tanto vigor que nem sabe que são dogmas. Pode ser considerado “dogmático”, por exemplo, em certos círculos tidos como progressistas, supor a perfeição ou aprimoramento do homem num outro mundo. Mas não é considerado “dogmático” supor a perfeição ou aprimoramento do homem neste mundo; ainda que a idéia de progresso não esteja demonstrada tanto quanto não está a idéia de imortalidade e seja, do ponto de vista racionalista, muito improvável. O progresso é um de nossos dogmas, e um dogma é algo que não é tido como dogmático. Ou, novamente, não vemos nada de “dogmático” na inspiradora, embora demasiado assustadora, ciência física, que afirma devermos coletar os fatos pelos fatos, mesmo que pareçam tão inúteis como gravetos e fios de palha. Esta é uma grande e sugestiva idéia cuja utilidade pode ser provada, mas que, considerada em abstrato, é tão questionável quanto recorrer a oráculos ou a templos sagrados, que dizem ser capazes de se comprovar. Assim, por não estarmos numa civilização que acredita firmemente em oráculos ou locais sagrados, vemos o total furor daqueles que se mataram para descobrir o Santo Sepulcro. No entanto, por estarmos numa civilização que acredita no dogma dos fatos pelos fatos, não vemos o total furor daqueles que se matam para descobrir o Pólo Norte. Não me refiro a uma defensável utilidade suprema que é verdadeira tanto em relação às cruzadas quanto em relação às explorações polares. Digo apenas que vemos a singularidade estética e superficial, a qualidade assustadora da idéia de homens cruzando um continente com exércitos para conquistar um lugar onde um homem morreu. Contudo, não vemos a singularidade estética e assustadora de homens morrendo em agonia para descobrir um lugar onde ninguém vive – um lugar que é interessante apenas porque supõem ser o lugar de encontro de algumas linhas que não existem.
Empreendamos uma longa jornada e comecemos uma busca incômoda. Escavemos e procuremos até encontrarmos nossas próprias opiniões. Os dogmas que realmente defendemos são muito mais fantásticos e, talvez, muito mais belos do que pensamos. No curso destes ensaios, temo ter falado, de tempos em tempos, de racionalistas e de racionalismo de uma forma depreciativa. Por estar cheio daquela brandura que deve vir ao fim das coisas, até mesmo ao fim de um livro, peço desculpas aos racionalistas, exatamente por chamá-los de racionalistas. Não há racionalistas. Todos nós acreditamos em contos de fada e neles vivemos. Alguns, com um suntuoso viés literário, acreditam na existência de uma mulher vestida de sol.399 Outros, com um instinto mais rústico, mais élfico, como o Sr McCabe, acreditam apenas no impossível sol propriamente dito. Alguns acreditam no indemonstrável dogma da existência de Deus; outros, no igualmente indemonstrável dogma da existência do homem da casa ao lado.
As verdades se transformam em dogmas no instante em que são contestadas. Assim, todo homem que expressa uma dúvida descreve uma religião. E o ceticismo de nosso tempo realmente não destrói as crenças, ao contrário, as cria; definiu-lhes os limites e a forma simples e desafiante. Nós, que somos liberais, antes acreditávamos no liberalismo como um leve truísmo. Nós, que acreditávamos no patriotismo, antes o considerávamos razoável, e pensávamos pouco a esse respeito. Agora que sabemos que é incompreensível, o consideramos correto. Nós, que somos cristãos, nunca nos demos conta do grande senso comum filosófico inerente àquele mistério, até que os escritores anticristãos nos chamaram a atenção. A grande marcha da destruição mental continuará. Tudo será negado. Tudo se tornará um credo. É razoável negar a existência das pedras da rua; será um dogma religioso declará-lo. É uma tese racional dizer que vivemos num sonho; será sanidade mística dizer que estamos acordados. Velas serão acesas para atestar que dois mais dois são quatro. Espadas serão empunhadas para provar que as folhas são verdes no verão. Ficaremos a defender não somente as virtudes e sanidades inacreditáveis da vida humana, mas algo mais inacreditável ainda: este imenso universo impossível que salta aos olhos. Seremos aqueles que olharão a grama e os céus impossíveis com estranha coragem. Seremos aqueles que viram e creram.
384 George Bernard Shaw (1856–1950).
385 Em inglês, The Time Machine, é um romance de ficção científica, de H.G. Wells (1866–1946), publicado pela primeira vez em 1895. É a primeira obra de ficção científica a propor o conceito da viagem no tempo utilizando um veículo que permite ao operador viajar para o local e para a época que quiser de forma seletiva.
386 Em português, Três soldados, é uma coletânea de contos em que os três soldados do título, Learoyd, Mulvaney and Ortheris, que já haviam aparecido na coletânea anterior chamada Palin Tales on the Hills, de 1888, aparecem em novas situações.
387 Em português, As armas e o homem, é uma comédia, cujo título se baseia no primeiro verso da Eneida de Virgílio (70 a.C.–19 a.C.). A peça se passa durante a Guerra Servo-Búlgara de 1885 e foi um dos primeiros sucessos comerciais de Shaw.
388 Sir William Watson (1850–1935) ganhou suficiente destaque por sua poesia a ponto de ser sagrado cavalheiro. Chegou a ser considerado, após a morte de Lord Tennyson (1809–1892) uma escolha óbvia para a indicação como poeta laureado (poeta oficial do Estado indicado pelo monarca), em 1896. No entanto, ao se opor, desde o início, à Guerra dos Bôeres, foi considerado politicamente inviável para a indicação, sendo substituído por Alfred Austin (1835–1913).
389 Robert Bontine Cunninghame Grahame (1852–1936) foi um autor e político britânico que escreveu muitos livros baseados em suas aventuras nas partes mais remotas do planeta. Foi amigo de Bernard Shaw (1856–1950) e de Joseph Conrad (1857–1924) e os usou como modelo de algumas personagens.
390 Coventry Patmore (1823–1896) foi um poeta e crítico inglês, convertido ao catolicismo em 1862, que escreveu poemas principalmente sobre amor marital e temas religiosos.
391 O termo “escola de Manchester” foi utilizado pela primeira vez, em 1848, por Benjamin Disraeli (1804–1881) em relação aos teóricos defensores do livre-comércio que se opunham às guerras e ao imperialismo inglês. Teoricamente, os seguidores dessa forma de compreender o fluxo dos mercados se baseavam nas idéias de David Hume (1711–1776), Adam Smith (1723–1790) e Jean-Baptiste Say (1767–1832). Entre os principais defensores estavam Richard Cobden (1804–1865) e John Bright (1811–1889).
392 Maior rua comercial de Londres e desde o século XVIII se destaca pelo comércio elegante e refinado.
393 Monumento em mármore de Carrara, construído na área do Hyde Park em Londres. Projetado em 1821, nos moldes do arco do triunfo de Constantino em Roma por John Nash (1752–1835), foi originalmente erigido no The Mall para servir como porta de entrada para o novo Palácio de Buckingham. Em 1851 foi colocado na posição em que se encontra hoje.
394 John Morley (1838–1923) foi um estadista liberal e literato. Antes de entrar para a política foi editor da Fortnightly Review (1865–1954) e da Pall Mall Gazette (1865–1923). Opôs-se à Guerra dos Bôeres, pois via a política imperialista como uma forma de expansão do Estado e a referida guerra como um perigoso aumento de despesas que influenciariam mudanças nas estruturas econômica e social do país.
395 Vision também significa “imaginação”; Chesterton está fazendo um jogo de palavras impossível de traduzir. Por isso que, mais para a frente, ele fala em sonho de perfeição.
396 Chesterton se refere à passagem de Pr 29,18. Na Bíblia de Jerusalém o trecho foi traduzido como: “Quando não há visão, o povo não tem freio” e na Bíblia da CNBB: “Quando falta profecia, o povo se corrompe”. Na versão em português da Trinitarian Bible Society e em várias outras bíblias protestantes, a passagem é traduzida utilizando o termo “profecia” em vez de “visão” e, por vezes, o verbo “perecer” é utilizado em substituição ao “corromper”. Vale a pena ver também a passagem de Pr 11,14 “Por falta de direção um povo se arruína”, que traz a mesma idéia.
397 Paul Kruger (1825–1904) foi um líder político sul-africano, quatro vezes presidente da República do Transvaal, e resistiu ferozmente aos planos de Cecil Rhodes (1853–1902) de unificação da África do Sul.
398 Ver capítulo I.
399 Referência à descrição de Maria no Apocalipse de São João (Ap 12,1).
POSFÁCIO
Doutrina e dignidade:
de Hereges a Ortodoxia400
DEIXEM-ME COMEÇAR citando dois trechos, um de Russell Kirk (1918–1994) e outro do próprio G.K. Chesterton (1874–1936). “Não obstante, por trás da arrogância da intelectualidade do século XX”, escreveu Kirk, “Chesterton acreditava estar em atividade um poder corruptor que não era meramente humano”.401 E Chesterton escreveu, num ensaio chamado “Em defesa das coisas feias”, que:
Há quem diga que o exterior, sexual ou físico, de outra pessoa lhe é indiferente, que só se preocupa com a comunhão mental; mas tais pessoas não nos deterão. Há certas declarações que ninguém julga acreditar, não obstante são feitas muitas vezes.402
O senso comum, portanto, nos proíbe de acreditar em coisas tolas, assim como nos faz suspeitar de que há mais coisas na desordem no mundo do que apenas nós mesmos.
Somos quem somos, em primeiro lugar, porque nossa existência é, em si mesma, um dom que não é autoconcedido, ou que podemos criar por intermédio de nossos esforços. Não somos símios reencarnados, nem deuses, nem um processo instável em vias de se tornar algo diferente do que somos, nada mais do que o mais apto dos sobreviventes. Pois, como Chesterton observou, com a perspicácia de sempre, a sobrevivência do mais apto significa somente a sobrevivência daqueles que, de fato, sobreviveram. E sabemos ao menos isto. Sabemos que sobrevivemos. Sabemos que rejeitamos o perigo supremo que duvida até mesmo do que somos.
“O perigo é que o intelecto humano é livre para destruir-se”, lemos em Ortodoxia:
Da mesma forma como uma geração poderia impedir a própria existência da geração seguinte com todo o mundo entrando no convento ou pulando no mar, assim um grupo de pensadores pode, até certo ponto, impedir a expansão do pensamento humano ensinando à geração seguinte que nenhum pensamento humano tem validade alguma. [...] É um ato de fé afirmar que nossos pensamentos têm alguma relação com a realidade por mínima que seja. [...] Há um pensamento que bloqueia o pensamento. Esse é o único pensamento que deveria ser bloqueado. É o mal supremo contra o qual toda autoridade religiosa se voltou.403
Assim, sobrevivemos, pois estamos aqui. Portanto queremos determinar o que é um sobrevivente humano neste planeta e o que deve fazer ao descobrir que, de fato, existe.
O “herege” é, em substância, alguém que diz que nós mesmos devemos começar a criar um mundo que não tenha qualquer um dos óbvios limites e defeitos deste mundo, que devemos moldar um outro tipo de homem, pois aquilo que somos certamente é alguma espécie de gigantesco erro cósmico. Por outro lado, o pensador “ortodoxo”, sem dúvida, concorda que algo certamente está errado; sabe que a doutrina do pecado original precisa de menos comprovação do que um simples passeio pelas ruas.
“E à pergunta ‘Qual é o significado da Queda do Homem?’”, Chesterton refletiu:
[...] eu só podia responder com sinceridade total: “Seja lá o que sou, eu não sou eu mesmo”. Esse é o primeiro paradoxo da nossa religião; algo que nunca conhecemos em nenhum sentido pleno não apenas é melhor do que nós, mas até nos é mais natural do que nós mesmos. E para isso não existe realmente um teste exceto aquele meramente experimental com o qual estas páginas começaram, o teste da cela acolchoada e da porta aberta. Foi só depois de conhecer a ortodoxia que conheci a emancipação mental.404
No entanto, somos criaturas que, se me permitirem, ao cair nos erros, ainda são capazes de dar graças e de contar as folhas das árvores pela manhã. O fato de a condenação eterna ser, para nós, uma possibilidade real é apenas o outro lado do risco da glória, de modo que podemos agradecer ao próximo pelo copo d’água, porque não precisava nos oferecer. A estrutura do cosmo é tal que temos tanto a água quanto o copo juntamente com a capacidade de dá-los onde não são necessários, ou nos recusarmos a ofertá-los onde deveríamos. Caso a condenação não fosse possível nas pequenas coisas, não haveria grandes coisas. É por isso que as vidas comuns são, diante de Deus, tão importantes quanto as vidas heróicas. Deste modo, a primeira coisa que precisamos conhecer a nosso respeito é a nossa filosofia, caso vivamos num mundo em que a condenação eterna seja possível porque a ação de graças pode ser recusada.
Pensar: uma ocupação perigosa
Na Autobiografia, Chesterton recordou por que chamara a coletânea sobre Rudyard Kipling (1865–1936), George Bernard Shaw (1856–1950) e H.G. Wells (1866–1946) justamente de Hereges. Foi porque, dissera, cada um deles “cometeu um erro supremo ou religioso”.405 Tal título, naturalmente, levou ao desafio, irresistível para Chesterton, de nos dizer não o que discordava, mas sobre o que dizia a esse respeito sua própria teologia. A este último manifesto chamou de Ortodoxia, embora tivesse confessado que não estava totalmente feliz com o título, até que aos poucos percebeu haver nele algo muito “provocador”. Começou a tomar consciência de que, no mundo moderno, havia somente uma “heresia imperdoável” e esta era a ortodoxia cristã clássica. Todos o aplaudiam ou brincavam com ele, até perceberem que Chesterton “realmente tencionava dizer o que disse”.406
O que pretendia chamar de ortodoxia era, em substância, aquilo que estava na doutrina como a Igreja a entendia. Tais crenças são a base de nossa dignidade, e a dignidade fica, de alguma forma, abalada cada vez que buscamos mudar uma vírgula de seu conteúdo. De fato, o próprio esforço em mudá-las é, em si mesmo, um instrumento do processo de tecer ou criar um outro tipo de homem diferente daquele descrito pela doutrina. Por fim, para mudar o homem, devemos primeiramente mudar as crenças. Por isso que pensar é uma ocupação perigosa, pois ao mudar de idéia, podemos acabar por mudar o mundo. Podemos ser mortos por nossas crenças, mas podemos ser mais facilmente destruídos pelas doutrinas. E, enquanto o mártir deve saber por que morre, o restante de nós deve saber, acima de tudo, por que vive. Pois, para o primeiro, a fé deve ser o bastante, mas para os últimos, a doutrina é necessária se também quisermos manter a dignidade.
Quem serão nossos mestres?
Portanto, temos uma natureza privilegiada: “a natureza humana não muda”,407 como observou Eric Voegelin (1901–1985) no sexto e último capítulo de A Nova Ciência da Política, intitulado “O fim da modernidade”. Mas também temos uma “segunda natureza”, aquilo que escolhemos ser e conhecer. Para isso precisamos de um mestre, e para tal ensino, escreveu Leo Strauss (1899–1973): “No entanto, as maiores inteligências proferem monólogos [...] e contradizem umas às outras a respeito dos assuntos mais importantes”.408 Mas essa própria contradição entre as grandes inteligências significa que nós mesmos devemos julgar os grandes mestres que nem sempre, ou mesmo durante boa parte de nossas vidas, vivem entre nós. Então, devemos aprender com os livros dos grandes pensadores. Isso quer dizer, evidentemente, que devemos decidir dentre os grandes mestres, dentre os grandes livros, quem serão nossos mentores a respeito do ordenamento das coisas, pois grandes mestres entram em contradição. Devemos buscar entre os grandes livros aqueles que não contradizem a realidade, aqueles que servem de guia para aquilo que nos é dado.
Como escolhemos? Leo Strauss sugere que só podemos fazê-lo pelo próprio raciocínio refletindo acerca de si mesmo, compreendendo que temos uma razão que funciona bem. A partir disto, concluímos, juntamente com Strauss:
Esta experiência [de pensar] é totalmente independente, quer compreendamos que algo é agradável ou desagradável, belo ou feio. Leva-nos a perceber que todos os males são, em certo sentido, necessários caso tenha de existir compreensão. Permite-nos aceitar todos os males que recaem sobre nós e podem muito bem partir o coração no espírito de bons cidadãos da Cidade de Deus. Ao nos tornarmos conscientes da dignidade da razão, percebemos o verdadeiro fundamento da dignidade do homem e, com isso, a bondade do mundo, quer a compreendamos como criada ou incriada, que é a origem do homem porque é a origem da inteligência humana.409
Esta observação nos remete, é claro, diretamente para a temática central de Chesterton de nos sentirmos com saudades do lar, estando em casa.410 Remete-nos a como a doutrina cristã da ressurreição do corpo se relaciona com as noções aristotélicas de impossibilidade da amizade com o Primeiro Motor, que é “o raciocínio refletindo acerca de si mesmo”; remete-nos a pensar se o objeto da revelação também é verdade, se é doutrina; a pensar a respeito da verdade, da vida, a pensar se nossa dignidade inclui as doutrinas e dogmas, a pensar adequadamente sobre a ordem das coisas que não precisavam existir, ou seja, sobre a liberdade de um Deus que não precisava criar. E, a respeito de se podemos ou não suportar toda a verdade a respeito de nossa existência no ordenamento das coisas, um tema que muitas vezes vemos expresso nos escritos de João Paulo II, Leo Strauss também ficou conhecido por outra doutrina famosa, uma doutrina bastante parecida com a experiência de Chesterton quando os “hereges” descobriram, de repente, que ele falava sério a respeito da ortodoxia. No ensaio “Perseguição e a arte da escrita”, Strauss apresentou a conhecida tese a respeito dos grandes mestres que cuidadosamente apresentam e dissimulam a verdade das perigosas autoridades públicas e as revelam para sérios “recrutas”, os quais chegam a ver a verdade dos escritos como um caminho para a verdade das coisas.411
Embora possa ser afirmado, talvez, que o estilo paradoxal de Chesterton seja uma forma de “escrita secreta”, já que desarma o crítico de pensar Chesterton como perigoso para a ordem pública estabelecida, ainda assim Chesterton como cristão estava muito preocupado que a verdade tivesse uma expressão pública, assim como que ela fosse preservada por certa elite ou inteligência acadêmica. Quando Chesterton convenceu os críticos de que realmente acreditava na “ortodoxia” clássica, como encontrada na doutrina e em Santo Tomás de Aquino (1225–1274), ele se tornou o verdadeiro “herege”. Ou seja, não era mais aceito como parte da esfera pública intelectual. Não foi executado, como Sócrates (469–399 a.C.), mas foi isolado, até mesmo por cristãos constrangidos por professarem uma verdade que poderia ser o que Chesterton dizia. Nesse sentido, Chesterton continua a ser sinal de contradição, já que defende um cristianismo que muda o mundo por não mudar o próprio credo diante do neomodernismo, que salvaria a fé ao mudar os dogmas, conformando-os às doutrinas sempre mutantes do mundo.
O que gostaria de sugerir, então, é que o uso que Chesterton faz do paradoxo era, de fato, uma espécie de “escrita secreta”, nem tanto para esconder a verdade, mas para atrair a inteligência de quem busca por algo, para encontrar novos membros para a verdade que poderiam, no início, não suspeitar ou não estar dispostos a admitir que o que buscavam era a verdade. Ademais, a compreensão do mal como um exercício mental necessário a guiar rumo à dignidade da razão e ao local apropriado da Cidade de Deus, o único lar adequado ao homem, tema chestertoniano clássico, nos aponta para a relação entre a doutrina da verdade e a doutrina da dignidade humana no pensamento de G.K. Chesterton.
Talvez o melhor exemplo disso possa ser encontrado naquelas linhas quase ao final da Autobiografia, em que Chesterton nos conta de novo, profeticamente, a relação da ortodoxia, da dignidade humana e da vinda do estado absoluto da genética. “Mas quem quer que leia este livro (se alguém o ler)”, escreveu,
verá que desde o começo o meu instinto sobre a justiça, a liberdade e a igualdade era um tanto diferente do instinto corrente nesta nossa época e de todas as tendências em direção à concentração e à massificação. Era-me instintivo defender as nações pequenas e as famílias pobres [...]. Eu não entendia verdadeiramente o que eu queria dizer com liberdade até que a ouvi chamada com o nome de Dignidade Humana. Este era um nome novo para mim, conquanto fosse parte de um credo de aproximadamente dois mil anos de idade. Enfim, eu desejei cegamente que o homem tivesse algo de seu, mesmo que fosse só o seu próprio corpo. À medida que tem avançado a concentração materialista, em breve um homem não terá nada; nem mesmo seu próprio corpo. Já pairam no horizonte os revoantes açoites da esterilização e da higiene social aplicadas a todos e impostas por ninguém.412
O pensamento certo, a opinião certa, a ortodoxia, são, como sugere Strauss, os fundamentos apropriados da dignidade humana. Santo Tomás de Aquino já assinalava que a visão de Deus é, em parte, um ato de nossos intelectos agraciados. Assim, embora a salvação do homem inclua toda a pessoa, um erro intelectual, no entanto, é, no fim das contas, um atentado ao valor humano. As idéias irão continuar. A argumentação continuará até sua conclusão definitiva, se não por nosso intermédio, então por meio de outras pessoas. A “boa vontade” sozinha não nos salvará.
Neste ponto gostaria de sugerir que Chesterton é um dos grandes mestres. Em suas obras, necessariamente nos deparamos com uma das inteligências supremas pela qual devemos localizar as outras grandes inteligências. No tratado De Amicitia de Marco Túlio Cícero, há uma passagem memorável que falava dos próprios diálogos De Amicitia, De Officiis e De Senectute. Cícero notou que “exposições desse tipo parecem carregar consigo uma certeza especial quando colocadas nas bocas de personagens de uma geração mais antiga, especialmente naqueles que foram homens eminentes”.413 Minha geração não teve a sorte de conhecer Chesterton pessoalmente, logo, tivemos de conhecê-lo pelos livros (que felizmente têm sido republicados). A conversa da humanidade com o maior dos mestres não cessará porque aqueles que nos falam estão mortos.
“A tradição não aceita submeter-se à pequena e arrogante oligarquia dos que parecem vagar por aí”, observou sarcasticamente em Ortodoxia; “todos os democratas desaprovam que homens sejam desclassificados pela contingência do nascimento; a tradição contesta que sejam desclassificados pela contingência da morte”.414 Esta observação foi o modo de Chesterton elaborar a questão de Strauss sobre a situação das grandes inteligências. O ponto exato em que, de forma mais clara, o grande ensinamento de Chesterton entra em jogo está centrado no modo como fé e razão se reúnem numa só pessoa. Fé e razão estarão eternamente separadas, a menos que, de alguma forma, em algum lugar, ambas sejam tratadas com atenção e existam na mesma mente.415
A passagem fundamental para ilustrar isso é encontrada no prefácio de Ortodoxia, quando lemos:
É propósito do autor tentar uma explicação; não de se a fé cristã deva ser seguida, mas de como ele, pessoalmente, chegou a acreditar nela. O livro está, portanto, disposto na forma do princípio positivo de mistérios e soluções. Compreende, primeiramente, todas as especulações solitárias e sinceras do próprio autor e, posteriormente, lida com todo o surpreendente método como, de súbito, foram todas satisfeitas pela teologia cristã. O autor as tem como um credo convincente. Contudo, se não o forem, ao menos, são uma reiterada e surpreendente coincidência.416
Tal passagem extraordinária se dirige à problemática straussiana de se a fé é necessária à razão, de modo que o conteúdo da razão chega, de alguma forma, corrompido quando atinge um contexto de fé.417
A abordagem de Chesterton a tal questão é um tanto empírica. De algum modo, como nos diz em Ortodoxia, tinha uma percepção do cristianismo tanto da parte dos que lhe faziam objeção, que pareciam ávidos para lançar sobre ele quaisquer armas, como da própria percepção de que se o cristianismo não existisse, teria de tê-lo inventado para si.418 Tal afirmação é quase a única vez, na moderna literatura, creio, que o “ateísmo” foi combinado, com sucesso, com o cristianismo. Teologicamente, em todo o caso, não podemos dizer que as verdades da fé podem ser todas justificadas pela razão. Mas podem ser justificadas a partir da razão, por dizer, de modo que a Encarnação, por exemplo, seja a resposta para os questionamentos filosóficos que não podem ser enfrentados adequadamente, ou ao menos refutados, sem a levar em conta.
Levando em conta o credo
Assim, Chesterton foi capaz de escrever quase ao fim de Ortodoxia:
Contudo, farei uma pausa para observar que quanto mais via simples argumentos abstratos contra a cosmologia cristã, menos os cogitava. Ouso dizer que ao descobrir que a atmosfera moral da Encarnação era o senso comum, logo olhei para os argumentos intelectualmente instituídos contra a Encarnação e percebi que eram um contra-senso comum.419
O que é importante nesse ponto é a insistência de Chesterton em nos dizer como levou a sério os argumentos lógicos contra a Encarnação, como expressões de visões de mundo que, cedo ou tarde, afetariam a dignidade humana porque eram erros da inteligência. O credo, então, não é somente algo que deve ser recitado, mas algo que deve ser pensado.
Flannery O’Connor (1925–1964) captou um pouco disso na sua obra Mystery and Manners [Mistério e costumes], onde escreveu:
O dogma é um instrumento para penetrar na realidade. O dogma cristão trata da única coisa que restou no mundo e que certamente guarda e respeita o mistério. O escritor de ficção é um observador, no início, no fim, e sempre, mas não pode ser um observador adequado a menos que esteja livre da incerteza a respeito do que vê. Aqueles que não possuem valores absolutos não podem deixar o relativo ser apenas relativo; sempre o elevam ao nível do absoluto. O escritor de ficção católica é totalmente livre para observar. Não sente o chamado para assumir o papel de Deus ou criar um novo universo. Sente-se perfeitamente livre para olhar para o que já existe e mostrar exatamente o que vê.420
Hereges foi dedicado aos filósofos literários, como G.B. Shaw, Rudyard Kipling e H.G. Wells, que, graças ao brilhantismo, eram forçados a absolutizar suas construções, pois o dogma não os poupava de ver este mundo. Estavam sempre, para usar a expressão de Flannery O’Connor, elevando o relativo ao nível do absoluto.
Então, quase profeticamente, Chesterton concluiu Hereges com o dogma de que, por fim, precisaríamos da fé até para ver aquilo que já estávamos admirando.
Nós, que somos cristãos, nunca nos daremos conta do grande senso comum filosófico inerente àquele mistério, até que os escritores anticristãos nos chamaram a atenção. A grande marcha da destruição mental continuará. Tudo será negado. Tudo se tornará um credo. [...] Ficaremos a defender não somente as virtudes e sanidades inacreditáveis da vida humana, mas algo mais inacreditável ainda: este imenso universo impossível que salta aos olhos. Seremos aqueles que olharão a grama e os céus impossíveis com estranha coragem. Seremos aqueles que viram e creram.421
Qualquer pessoa familiarizada com o livro do padre Stanley Jaki, O.S.B. (1924–2009), The Road of Science and the Ways to God [A via da ciência e os caminhos para Deus], que traz a correta tese histórica de que, ao final, a teologia cristã, não a razão humana ou qualquer outra coisa, nos deixou ver este incrível universo,422 tal pessoa não pode deixar de se maravilhar com a previsão certeira de Chesterton.423 Ele percebeu que os “hereges”, apesar de toda a boa vontade, não eram, de fato, ortodoxos, não eram realmente capazes de ver o mundo e a grama crescendo em direção aos céus azuis.
Chesterton e o paradoxo
Chesterton, muito facilmente admitimos, não se presta a rodapés, ao aparato padrão do discurso acadêmico. Poucos são os que fazem referência a Chesterton fazendo uma citação precisa. Muitas vezes nos vemos falando “como disse Chesterton em algum lugar”. Então, prosseguimos e o citamos com razoável acuidade porque ele realmente nos ensinou, porque seu ensinamento é a grande contradição dos outros grandes mestres. Normalmente damos crédito a Chesterton ao ignorar a numeração das páginas. “Se vale a pena fazer determinada coisa, vale a pena fazê-la logo”, brincamos, desejando que tivéssemos sido os primeiros a dizer isso, mas felizes por não termos sido tal pessoa, pois de certa forma é ainda mais formidável descobrir o que já foi descoberto, descobrir a Inglaterra, pensar que ela é, realmente, o fim do mundo.
Chesterton continua sendo, ainda hoje, um dos escritores mais citados e citáveis da língua inglesa.424 Embora não sejam poucos os que continuam a professar ficarem aborrecidos com a infinidade de paradoxos, confesso achá-los divertidos, memoráveis, sinais de alerta. Contudo, o ponto de deleite sempre esteve próximo do centro metafísico da realidade, como quando descobriu em Ortodoxia que o motivo pelo qual o sol nascia a cada dia poderia não ser por um determinismo enfadonho, mas por um acaso encantador, e a alegria da repetição era, por si mesma, um espanto. Cada um de nós, suponho, pode fazer um relato pessoal ou autobiográfico dos encontros com Chesterton a ensinar a respeito da estrutura da realidade, sobre o que chamava de sanidade. Não digo que tenhamos de ter visitado Beaconsfield ou Edward’s Square, ou que devamos ser bem idosos para ter ouvido Chesterton palestrar ou conversar. Ao contrário, cada um tem a própria história intelectual que o levou, de uma forma ou de outra, da heresia ao dogma, da doutrina à sanidade.
Cresci numa época em que estava fora de moda, e era até errado, ler ou gostar particularmente de Chesterton. É claro, nem tinha ouvido falar dele até chegar a uns vinte e poucos anos, mas esse era um outro problema, pois levei esse tempo todo para começar a entender o que significava, em primeiro lugar, uma inteligência católica. O “tipo” de catolicismo de Chesterton, como chamavam, era tido como obsoleto. Ciência, História, Ecumenismo, Teologia e até mesmo Filosofia, tudo conspirava para fazer dele um pitoresco inglês, que talvez só sobrevivesse por causa das histórias de detetive do Pe Brown.
Confesso, no entanto, que nunca li as histórias do padre Brown, a não ser por uma ou duas histórias curtas. Não gosto de histórias de mistério, embora sejam uma arte nobre. Para ser exato, citei inúmeras vezes o comentário de Chesterton de que devemos cometer assassinatos o tempo todo, mas ao escrever a respeito, em histórias policiais. Esta é, afinal de contas, uma observação de Platão (428–347 a.C.): de que o conhecimento do mal não é mau, mas bom. Chesterton estava muito certo de que um dos grandes argumentos para ser cristão era porque isso o permitia compreender a verdadeira natureza e as profundezas do mal que havia em nós mesmos e no mundo. A crucificação era o fim da Encarnação, mesmo ao ser seguida pela ressurreição.
A alegria final
Penso que devemos considerar seriamente o motivo que levou Chesterton a ingressar na Igreja. “Quando as pessoas me perguntam [...] ‘Por que você ingressou na Igreja de Roma?’, a primeira resposta básica é ‘Para me livrar dos meus pecados’”.425 Somos fiéis ao seu testemunho se o tomarmos quase literalmente como um homem que sabia o alcance do mal que havia nele não somente como uma possibilidade, segundo a qual inventaria assassinatos inimagináveis para o seu padre Brown, mas como a afirmação de um fato. Chesterton sabia muito bem que negar a possibilidade ou a realidade do mal humano significava uma heresia básica: a de reduzir cada homem e cada mulher à insignificância última, a um ser sem nada a fazer no mundo, sem um feito derradeiro.
Assim, neste contexto, Chesterton descobriu “A ética da terra dos elfos”, em que:
Veio-me à mente uma impressão indefinida e incomensurável de que, de alguma maneira, todo o bem era um vestígio a ser guardado e mantido como sagrado, proveniente de alguma ruína primordial. [...] Senti tudo isso e a minha época não incentivou tal sentimento. E durante todo esse tempo nem sequer havia pensado na teologia cristã.426
No entanto, o fato de não nos salvarmos por nós mesmos não significa que não há nada a ser salvo, não significa que não há nada além daquilo que criamos.
Chesterton sabia, é claro, que o intelecto era capaz de nos decepcionar. O coração, mesmo com pecados, muitas vezes era menos perigoso do que uma inteligência em erro. Ao final da obra The Catholic Church and Conversion [A Igreja Católica e a conversão], confessou: “tenho muito mais simpatia pela pessoa que abandona a Igreja por um caso amoroso do que por aquele que a deixa por causa de prolixa teoria alemã que prova que Deus é mau ou que as crianças são uma espécie de símio mórbido”.427 A arrogância do século XX, como observou Russell Kirk, propõe um poder corruptor em funcionamento no cosmo mais que humano.428 A resposta a tal poder está não na suspensão do pensar, mas no pensar corretamente.
Crenças religiosas e filosóficas são, realmente, tão perigosas quanto fogo, e nada pode tirar-lhes a beleza do perigo. Mas há apenas uma forma de nos protegermos do perigo excessivo que oferecem; devemos imergir na filosofia e nos encharcar de religião.429
Mas com que razão? E com qual filosofia?
Começo estas reflexões fazendo referência ao professor Leo Strauss e no interesse que tinha por proteger, ao menos, um local para a revelação da vida civil e dos filósofos que não suportam a verdade. Strauss sabia, diferente de Santo Tomás de Aquino, que apenas uns poucos poderiam esperar ser verdadeiramente sábios. E um grupo ainda menor pode tolerar a verdade, uma vez que a tenha encontrado. Strauss se preocupava com Sócrates em Atenas, ao passo que os cristãos preocupavam-se com o Cristo em Jerusalém diante de Pilatos. Sugeri que o prefácio de Chesterton a Ortodoxia seja o elo de união apropriado entre fé e razão, o relato de como um homem veio a crer, de como os enigmas verdadeiramente experimentados na vida são resolvidos pelos dogmas, de como a filosofia cristã é muito estranha caso não seja, de fato, verdadeira.
Há no seu caráter [de Santo Tomás] algo [...] que o levou a exagerar um pouco até que ponto todos os homens chegariam, por fim, a prestar atenção à razão. Nas suas controvérsias, sempre admite que eles ouvirão a voz da razão, isto é, crê firmemente que os homens se convencerão com argumentos, quando chegarem ao fim do argumento. Mas o seu senso comum lhe diz também que não se pode argumentar indefinidamente.430
Chesterton prosseguiu, fazendo uma óbvia referência à argumentação do Aquinate na Summa Theologiae (I–II, 91,4) sobre se a lei divina era necessária para cumprir e conhecer a lei natural. Em essência, Chestertou demonstrou que tantos desvios e interferências, tantas digressões interessantes, mas sem saída, chegariam a um ponto tal que os argumentos, para a maior parte dos homens, nunca seriam capazes de chegar a uma conclusão final. Para onde isso levaria o homem comum?
Santo Tomás é da opinião de que as almas dos rudes trabalhadores, e de todas as pessoas simples, são tão importantes como as almas dos pensadores e dos investigadores da verdade, e pergunta como é que essas pessoas poderão arranjar tempo para raciocinar tão longamente como exige a busca da verdade. [...] O seu argumento da Revelação não é, pois, contra a razão, mas a favor da Revelação. A conclusão que ele tira daí é que os homens devem receber as verdades morais mais elevadas de modo miraculoso; ou a maioria dos homens não as receberia absolutamente.431
No contexto da moderna filosofia política e moral, esta é uma conclusão digna de nota, pois leva em conta a facilidade com que os “hereges” são hereges, mas também respeita a jurisdição da razão e sua ligação com a realidade. A mente não se torna um instrumento incapaz de verdade e em busca da verdade.432 Ou seja, os seres humanos como pessoas, na verdade, estão relacionados às coisas supremas.
Ainda, ao sustentar que podemos conhecer, sem auxílio, o mundo, sua ordem e a causa das coisas, com nossos poderes pessoais, caso nos sejam apresentados, Chesterton evitava a escrita cifrada e o elitismo que poderia, de alguma forma, levar a uma tese de duas verdades ou à negação das coisas supremas para a maioria dos homens. “O fato é que”, escreveu Dorothy Sayers (1893–1957), “neste país cristão [Inglaterra] não há uma entre cem pessoas que tenha a mínima noção do que a Igreja nos ensina a respeito de Deus, do homem, da sociedade ou da pessoa de Cristo”.433 G.K. Chesterton, em Hereges e em Ortodoxia, não só proclamou o que isso significava desconhecer tais doutrinas em termos de dignidade humana, mas também nos livrou de conhecê-las, de conhecê-las pela argumentação ou pela revelação, para que víssemos, por nós mesmos, como responderiam os enigmas que a vida nos apresenta.
Chesterton nos ensina, em outras palavras, a ser filósofos quando os grandes mestres discordam sobre as verdades supremas. A respeito das doutrinas básicas e dos dogmas de nossa dignidade e liberdade, parece-me que G.K. Chesterton, em seus livros, permanece o maior dos mestres, pois não somente seu credo é convincente em ter sido descoberto cerca de dois mil anos antes de seu tempo, mas é uma “repetida e surpreendente coincidência” que de fato responde aos mistérios últimos de nossa existência. A doutrina fundamenta a dignidade. Os hereges podem e vão nos levar para a ortodoxia. Finalmente, não nos livramos do mal quando o cometemos, mas quando o pensamos e sabemos ser mau. Como cristãos, não nos preocupamos com a “comunhão mental”, pois sabemos que devemos ser salvos por algo mais que um pensamento. Contudo, nosso pensamento ao pensar sobre si não é muito diferente do pensamento puro, como o chamou Aristóteles (384 a.C.–322 a.C.), não é diferente do verbo feito carne. Nossas inteligências não só estão unidas a todo o universo; também estão unidas a nós.
A descoberta derradeira é que não só o cosmo nos é dado, mas a de que temos a nós mesmos; não apenas o universo nos é dado, mas temos o autor do universo. Esta era, para Chesterton, a verdade última que ordenava apropriadamente todas as experiências que tivera.
A maioria dos homens viu-se forçada a ser alegre no que concerne às pequenas coisas, mas triste no que concerne às grandes. No entanto (ofereço o meu último dogma como um desafio) não é próprio da natureza humana ser assim. O homem é mais ele próprio, o homem é mais semelhante ao homem, quando a alegria é a característica fundamental que se encontra nele [...]. A alegria [...] é o gigantesco segredo do cristão.434
A última das heresias é aquilo que causamos a nós mesmos; a alegria final, a ortodoxia derradeira, é que a nós é dado mais do que jamais teríamos imaginado.
James V. Schall, S.J.
400 O presente texto foi publicado em inglês na Homiletic and Pastoral Review (Fevereiro, 1982), com o título “On Doctrine and Dignity: from Heretics to Orthodoxy” e reimpresso no livro Another Sort of Learning (San Francisco: Ignatius Press, 1988). Os direitos de tradução do artigo foram gentilmente cedidos pelo autor e pelo editor da Homiletic and Pastoral Review, Pe David Meconi, S.J., para o Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista (CIEEP), que autorizou a publicação como posfácio na presente edição do livro Hereges de G.K. Chesterton pela Ecclesiae Editora.
401 KIRK, Russell. “Chesterton, Madness, and Madhouses”. In: Modern Age, Winter, 1971, p. 15.
402 CHESTERTON, G.K. “In Defence of Ugly Things”. In: The Defendant. Londres: Dent, 1914, página 113.
403 CHESTERTON, G.K. Orthodoxy. In: Collected Works – Volume I: Heretics, Orthodoxy, The Blatchford Controversies. (Introduction and notes by David Dooley). San Francisco: Ignatius Press, 1986, página 236. [NT: Em língua portuguesa, há três edições disponíveis da obra, a saber: – CHESTERTON, G.K. Ortodoxia. (Apresentação, notas e anexo de Ives Gandra da Silva Martins Filho; tradução de Cláudia Albuquerque Tavares). São Paulo: LTr, 2001. – CHESTERTON, G.K. Ortodoxia. (Tradução de Almiro Pisetta). São Paulo: Mundo Cristão, 2008. – CHESTERTON, G.K. Ortodoxia. (Tradução de Ives Gandra da Silva Martins Filho). Campinas: Ecclesiae, 2013.]
Ao longo do texto optamos por substituir as citações em inglês pela versão em português da edição que melhor correspondesse ao original. Mas, por vezes, o texto presente no artigo não corresponde a nenhuma das edições; nesses casos decidimos bem fazer uma nova tradução. A referida citação se encontra na edição da Mundo Cristão, pp. 56–57]. Ver, também: TORRANCE, T.F. “Ultimate Beliefs and Scientific Revolutions”. In: Cross Currents, Summer 1980, pp. 129–149.
404 CHESTERTON. Orthodoxy. p. 363. [NT: CHESTERTON. Ortodoxia. Mundo Cristão. pp. 259–260; NE: CHESTERTON. Ortodoxia. Ecclesiae. pp. 232].
405 CHESTERTON. Autobiography of G.K. Chesterton. Nova York: Sheed and Ward, 1936. p. 179 [NE: CHESTERTON. Autobiografia. Campinas: Ecclesiae, 2012. p. 209].
406 Idem. Ibidem. p. 180.
407 VOEGELIN, Eric. The New Science of Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1952. p. 165. [NT: Substituímos a citação original em inglês pela versão em língua portuguesa da seguinte edição brasileira: VOEGELIN, Eric. A Nova Ciência da Política. (Apresentação de José Pedro Galvão de Sousa; tradução de José Viegas Filho). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982. p. 120].
408 STRAUSS, Leo. “What is Liberal Education?”. In: Liberalism: Ancient and Modern. Nova York: Basic Books, 1968. p. 7.
409 Idem. Ibidem. p. 8.
410 CHESTERTON. Orthodoxy. p. 284. [NE: CHESTERTON. Ortodoxia. Ecclesiae. p. 123; CHESTERTON. Ortodoxia. Mundo Cristão. p. 133].
411 STRAUSS, Leo. “Persecution and the Art of Writing”. In: Persecution and the Art of Writing. Nova York: Free Press, 1952. pp. 22–23.
412 CHESTERTON. Autobiografia. Ecclesiae. pp. 388–389. Ver também: CHESTERTON, G.K. Eugenics and Other Evils. In: Collected Works: Family, Society, Politics – Volume IV: What’s Wrong with the World, The Superstition of Divorce, Eugenics and Other Evils – and others. (Introduction by James V. Schall, S.J.). San Francisco: Ignatius Press, 1987; e SCHALL, S.J., James V. “The Rarest of All Revolutions: G.K. Chesterton on the Relation of Human Dignity to Christian Doctrine”. In: The American Benedictine Review, 32 (Dezembro, 1981): 304–327.
413 Cícero. De Amicitia. Volume I, livro 4.
414 CHESTERTON. Orthodoxy. p. 251. [NE: CHESTERTON. Ortodoxia. Ecclesiae. p. 78; NT: Optamos por retraduzir o trecho].
415 Ver: JAKI, O.S.B., Stanley L. Chesterton: A Seer of Science. Urbana: University of Illinois Press, 1986; JAKI, O.S.B., Stanley L. “Chesterton Landmark’s Year”. In: Chance or Reality and Other Essays. Lanham: University Press of America, 1986. pp. 63–77.
416 Este prefácio não foi pulicado pela Ignatius Press, utilizamos aqui a seguinte edição: CHESTERTON, G.K. Orthodoxy. Nova York: Doubleday Image, 1959, p. 6. [NT: O referido prefácio em português aparece apenas na edição da Mundo Cristão. Entretanto, optamos por retraduzir a citação].
417 STRAUSS, Leo. Natural Right and History. Chicago: University of Chicago Press, 1953. p. 164; STRAUSS, Leo. “The Mutual Influence of Theology and Philosophy”. In: Independent Journal of Philosophy III, 1979, pp. III–18.
418 CHESTERTON. Ortodoxia. Capítulo VI; CHESTERTON. Hereges. Capítulo XX.
419 CHESTERTON. Orthodoxy, p. 347 [NE: CHESTERTON. Ortodoxia. Ecclesiae. p. 211; NT: Optamos por retraduzir o trecho].
420 O’CONNOR, Flannery. Mystery and Manners: Occasional Prose. Nova York: Farrar, Straus e Giroux. 1969. p. 178. Ver também: SAYERS, Dorothy. “The Dogma Is the Drama”. In: The Whimsical Christian. Nova York: Macmillan, 1978. pp. 23–29.
421 CHESTERTON. Hereges. Capítulo XX, pp. 283-284.
422 JAKI, O.S.B., Stanley L. The Road of Science and the Ways to God. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
423 Ver o estudo, já citado, sobre a visão de ciência na obra de Chesterton, do padre Stanley L. Jaki, O.S.B.: Chesterton: A Seer of Science.
424 Ver o livro: MARLIN, George et al. (Eds.). The Quotable Chesterton. San Francisco: Ignatius Press, 1986. C.S. Lewis (1898–1963) é tão citado quanto seu amigo Chesterton. Ver: KILBY, Clyde S. An Anthology of C.S. Lewis: A Mind Awake. San Diego: Harcourt-Harvest, 1980.
425 CHESTERTON. Autobiografia. p. 374
426 CHESTERTON. Orthodoxy. p. 268 [NE: CHESTERTON. Ortodoxia. Ecclesiae. p. 101; NT: Optamos por retraduzir o trecho].
427 CHESTERTON. The Catholic Church and Conversion. Nova York: Macmillan, 1926. p. 115.
428 KIRK, Russell. “The Recovery of Norms”. In: Enemies of the Permanent Things: Observations of Abnormity in Literature and Politics. Peru: Sherwood Sugden & Company, 1984. pp. 15–39. [NT: Em português o ensaio foi publicado da seguinte forma: KIRK, Russell. “A arte normativa e os vícios modernos”. (Tradução de Gustavo Santos; notas de Alex Catharino). In: COMMUNIO: Revista Internacional de Teologia e Cultura, Volume XXVII, Número 4, (Edição 100), outubro / dezembro 2008: 993–1017].
429 CHESTERTON. Hereges. p. 279.
430 CHESTERTON, G.K. St Thomas Aquinas. (Introduction by Raymond Dennehy). In: Collected Works – Volume II: St Francis of Assisi, The Everlasting Man, St Thomas Aquinas. San Francisco: Ignatius Press, 1986. p. 434. [NT: Substituímos todas as citações dessa obra pelo trecho equivalente da seguinte edição brasileira: CHESTERTON, G.K. Santo Tomás de Aquino. (Ensaios de Gustavo Corção e Rosa Clara Elena; tradução e notas de Carlos Ancêde Nougué). Nova Friburgo: Edições Co-Redentora, 2002. p. 41].
431 CHESTERTON. St Thomas Aquinas. pp. 434–435. [NT: CHESTERTON. Santo Tomás de Aquino. p. 41].
432 CHESTERTON. St Thomas Aquinas. p. 541. [NT: CHESTERTON. Santo Tomás de Aquino. p. 154]. Diz Chesterton: “Segundo Tomás de Aquino, o objeto torna-se parte da inteligência; mais do que isso, segundo ele a inteligência torna-se então objeto. Todavia, como um comentador acentua com agudeza, ela só se torna objeto, mas não o cria. Em outras palavras, o objeto é objeto; pode existir e existe de fato fora da inteligência ou na ausência dela. E por isso amplia a inteligência, de que se torna parte.”
433 SAYERS, Dorothy. Op. cit., p. 35.
434 CHESTERTON. Orthodoxy. p. 364. [NE: CHESTERTON. Ortodoxia. Ecclesiae. pp. 233. 235].
G.K. Chesterton
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















