



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-las.
Capítulo 1
O tempo da imaginação - O Renascimento
Capítulo 2
O tempo da ciência - A Modernidade
Capítulo 3
A filosofia do sujeito - 0 Iluminismo
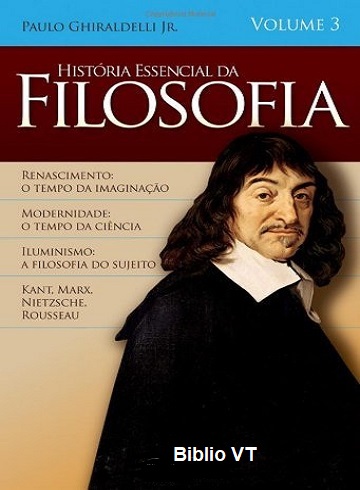
Filho de um rico comerciante e dono de terras, Pierre Eyquem foi prefeito de Bordeaux, na França, e também um interessado em pedagogia. Não contente em elaborar planos educacionais para os outros, criou um projeto para aplicar ao filho. Quando veio o rebento, Pierre não o deixou ficar em casa, colocando a criança aos cuidados de uma família humilde. Só depois de alguns anos é que o menino voltou ao lar, um rico castelo - o Château de Montaigne. Educado por um preceptor alemão, ainda sob o detalhado e esquisito planejamento pedagógico do pai, Michel de Montaigne (15331592) aprendeu bem o latim e se esmerou na leitura dos clássicos. Foi prefeito por duas vezes e conhecido homem público. Não em sua própria época, mas logo em seguida, tornou-se um intelectual símbolo de seu tempo, o Renascimento.
Os estudantes não ficam curiosos com o Renascimento só por causa de Montaigne. Mas, ele, com certeza, é um interessante ponto de partida para o professor que quer entusiasmar seus alunos. Seus textos são escritos em forma de pequenos ensaios, com temáticas variadas, sempre tendo o homem e os problemas humanos como eixo. O Humanismo, isto é, a troca de Deus pelo homem, como o que cabe no centro do Universo, próprio do Renascimento, guia a maioria de seus ensaios. A atração que exerce diante dos alunos se deve a algo típico das obras intelectuais e artísticas do Renascimento: a ironia e mesmo o humor, não necessariamente sutil. Se a modernidade de Descartes pode ser vista como a época da ciência e da exatidão, o tempo de Montaigne é o do gracejo e da imaginação.
Um dos textos que mais cativam os estudantes, contido nos ensaios de Montaigne, é "Do poder da imaginação". Quase pre vendo o que seria o trabalho dos filósofos modernos, temerosos em relação à imaginação, Montaigne faz antecipadamente o elogio à fantasia "'Fortis imaginatio generat casum', diz o escolástico" - eis a frase usada por Montaigne para iniciar seu escrito sobre a imaginação. Seguindo essa frase, uma série de casos bem-humorados são postos em desfile pelo filósofo.
Não há nenhuma situação do texto em questão que não agrade aos alunos. Montaigne mantém uma oscilação proposital a respeito do tema, de modo que a força da imaginação é ora crendice popular ora aquilo que se deve levar a sério. Desse modo, o leitor, não raro, fica sem saber efetivamente se ele, Montaigne, é apenas um observador da crença popular ou se, de fato, vê tal crença como verdadeira.
No ensaio sobre a imaginação, Montaigne conta, a respeito de si, como fica sugestionado com o relato de doenças e, pela imaginação, deixa-se levar pelo comportamento alterado, logo sentindo o que lhe dizem sobre os sintomas do doente. Também conta que "por força da imaginação", mulheres viraram homens ou quase isso. Não diz claramente, mas o que está subjacente é que, em determinado lugar, uma mulher, no decorrer do tempo, ganhou traços masculinos. E não teria sido outra coisa, senão suas próprias fantasias, que a fizeram assim. Montaigne não deixa o leitor decidir já de imediato se está diante de um caso em que a "força da imaginação" é uma desculpa contada pelas pessoas do local para encobrir ou aceitar o lesbianismo da moça ou se, de fato, está dizendo que o lesbianismo somado à fantasia da própria moça a conduziu para o destino de se tornar uma mulher velha e com barba. Nesse mesmo ensaio, também dedica a sua atenção às fantasias no sexo, e tece vários comentários de como o membro masculino é insurgente e rebelde ao comando do seu próprio dono, em virtude do descontrole da imaginação. O elogio da imaginação, nesses termos, é altamente provocativo para os alunos, que realmente se tornam, eles próprios, mais imaginativos ainda quando leem os renascentistas em geral.
A imaginação também é o elemento associado ao bom humor que comanda outros escritos e obras de arte renascentista. Em meio a dois movimentos que arrancaram sangue de muitos - a Reforma Protestante e a Contra-Reforma (a reação católica) - é notável que a literatura e a arte dessa época tenham se fixado na distribuição da ironia leve e, não raro, na adoção do sarcasmo, quase que como uma reação espontânea à dureza dos homens de religião e de política.
A ironia encontrada no Renascimento não é aquela exercida por Sócrates, que se articula a um método - o elenkhós - de conversação filosófica e de investigação. Trata-se da ironia da sátira. O ironizado renascentista são as instituições - em especial a Igreja ou mesmo as religiões em geral -, a sociedade e a própria cultura filosófica do platonismo e do aristotelismo, então tomada segundo um olhar que a tudo satiriza ora mais ora menos sutilmente. Uma hoje reconhecida jocosidade que identifica a cultura italiana se apresenta, inicialmente, em Veneza, um lugar relativamente livre das amarras religiosas e ponto de partida de toda a cultura renascentista. Esse traço italiano caracteriza, por exemplo, os escritos de Dante Alighieri (1265-1321). Em sua A Divina Comédia, Dante cria um lugar de morada, após a morte, para os filósofos pagãos. Trata-se do Limbo. Todavia, coloca Epicuro no inferno, dado que o filósofo grego era materialista. Ou seja, para que Epicuro cumprisse a pena por sua crença de não acreditar na imortalidade da alma! Além disso, Dante coloca no inferno um papa e outros de seus desafetos pessoais.
A sátira e o cultivo da imaginação foram o invólucro com o qual o Renascimento se construiu utilizando o material do humanismo. Em quadros, peças teatrais, contos e romances o homem acotovelou Deus e se pôs em cena. Não se pode dizer que isso tenha significado um privilégio do ateísmo ou de qualquer retomada do paganismo. O clima intelectual e moral do Renascimento manteve-se profundamente cristão. A ideia de privilégio da liberdade humana, da consciência individual como elemento responsável pelos juízos foram, nesse contexto, uma maneira cristã de retomada da cultura clássica. As elites da Itália e, em seguinda, do norte europeu, como que se predispondo ao que seria, mais tarde, canonizado pela doutrina do liberalismo político, inauguraram a valorização da individualidade. Os renascentistas sabiam que essas atitudes não destoavam do cristianismo que abraçaram, pois entendiam que certa tradição de leitura de Santo Agostinho lhes dava permissão para a construção dessa nova época. Foi nesse tempo que ocorreu o real nascimento da concepção de indivíduo que, nos séculos seguintes, foi evocada não só na política, mas na pedagogia, nas artes e, enfim, o que foi a base para o surgimento do gênero literário chamado romance.
O Renascimento fez, entre as elites, o que a Reforma e a Contra-Reforma levou adiante em relação ao povo. O protes tantismo valorizou a individualidade à medida que conferiu ao poder de cada pessoa a capacidade de ler a Bíblia e ensiná-la. Os católicos criaram a Companhia de Jesus, especialmente para dar vazão à Contra-Reforma, e esta se preocupou em assumir cada alma como importante, não mais a multidão. Isso se fez no contexto do trabalho de Johannes Gutemberg que, unindo a prensa de amassar uvas em vinícolas às letras feitas em metal, criou a imprensa. Não demorou muito para que os copistas - que em geral adulteravam os textos - fossem aposentados em favor dos tipógrafos e editores. Isso, de fato, melhorou as possibilidades críticas de cada pessoa, ampliando as chances da independência de pensamento.
Além da imprensa, a ampliação das rotas de comércio por mar e terra, o espraiar da retomada da vida urbana e o início das "grandes navegações" se agruparam para promover, no plano cultural, o Renascimento.
Em relação à valorização da vida individual, o que causou maior impacto direto foi o crescente confronto entre os habitantes da cidade e os donos dos feudos nos quais as cidades estavam localizadas. As requisições de independência das cidades em relação às amarras das leis do feudo e, não raro, da Igreja, trouxeram para a cena social uma forma de cidadania importante no seu incentivo à individualidade. Principalmente os escritores, filósofos e artistas encarnaram a ideia de viver em acordo com a doutrina de valorização da individualidade. Sustentados por um trabalho de preceptor de filhos das elites, também desejosos de serem vistos como personalidades individuais, esses intelectuais desempenharam os modelos de homens e mulheres anunciadores do homem moderno da sociedade liberal posterior. Todavia, diferentemente do homem moderno, os intelectuais renascentistas tinham a pretensão de ser indivíduos integrais, e vários deles assim se fizeram a partir do modo como foram educados, segundo a herança do currículo elaborado por Cícero (106-46 a.C.), antes da Idade Média. Era o currículo de estudos baseado em Gramática, Retórica, Poesia, História e Dialética ou Filosofia. Um currículo assim, segundo os educadores da época, deveria gerar o humanista, um termo que nasceu na própria época do Renascimento, mas que não veio acompanhado do termo humanismo, criado bem mais tarde.
Quando o humanismo renascentista conquistou as elites das sociedades do norte da Europa, a doutrina já nada era em seu berço, na Itália, senão regras pouco substanciais para o ensino. Assim, o humanismo do norte europeu não foi cultivado solitariamente, como ocorreu com o humanismo italiano. O humanismo do norte se infiltrou no contexto dos terríveis embates da Reforma e da Contra-Reforma. Sua voz de esperança no homem andou de mãos dadas com toda a ordem de sublevações e violências de um período em que os massacres, feitos por religiosos de todos os lados, determinaram o próprio esvaziamento da noção de pecado.
Essa presença do humanismo envolto aos embates religiosos foram molas propulsoras de dois importantes livros desses tempos, O elogio da Loucura, do holandês Erasmo de Rotterdam (1467-1536), e Utopia, do britânico Thomas More (1478-1535).
Erasmo e More foram bons amigos. O elogio da Loucura (1509) foi escrito por Erasmo na casa de More, e a este foi dedicado. A dedicatória é francamente brincalhona, digna de um filósofo espirituoso. Erasmo lembra que "meros", uma forma quase latinizada do nome do amigo, significa "tolo", e no decorrer do livro há o uso do jogo de palavras envolvendo essa dupla possibilidade do termo. Todavia, não pense que Erasmo queria ofender More. O "tolo", nesse caso, não é o bobo. A tolice evocada aí é exatamente a da estultícia, uma quase loucura. No decorrer do texto, a Loucura, ela mesma, fala de si em seu próprio beneficio, e disserta sobre todo tipo de assunto. Nesse percurso, Erasmo não perdoa os clérigos, os professores e os filósofos ligados à Igreja. Mas não para nisso. Desdenha até mesmo dos filósofos antigos, Platão e Aristóteles, uma vez utilizados pela Igreja. O livro é escancaradamente aberto a algo que só apontou sua cabeça francamente no século XVIII, com Rousseau, quando da elaboração da ideia protorromântica de apelo à sinceridade do coração em detrimento de um apelo direto à razão. Esta é vista como orgulhosa demais, mas incapaz de dar felicidade aos homens.
Por sua vez, o livro de More, Utopia (1516), mostra um país imaginário que não deixa de ter algo que lembra o escrito de seu amigo, Erasmo. Pois o detalhamento da comunidade imaginária e ideal de More são idiossincráticos, de modo que é de notar as razões de Erasmo sobre a brincadeira com a palavra "moros". A estultícia da terra imaginária de More é que, em uma ilha do Sul, ergue-se um país sem propriedade privada, formado por cinquenta e quatro cidades, todas elas planejadas, exceto a capital. Todavia, o planejamento urbano não se parece com o que é entendido, hoje em dia, como tal. As cidades de More se mostram enquadradas em um rígido sistema em que casas, ruas e até mesmo pertences pessoais são nivelados pelo igualitarismo. No modo de organização, é um tipo de comunismo, mas no campo cultural vigora um liberalismo de ideias, de religiões e até de costumes.
Considerando a amizade de More e Erasmo, pode-se dizer que a loucura que apela para o coração e evita a razão (afinal, trata-se da Loucura), heroína do escrito do segundo, dá as mãos para a bizarra cidade comunista-liberal, o mundo do livro do primeiro. Juntas, essas formas de exercícios da imaginação representaram uma das facetas do feitos do humanismo renascentista enquanto algo preparatório para a vida política posterior, então vigente em uma Europa formada por Estados-nações. Uma outra face, complementar, foi a do nascimento dos princípios do realismo político. Essa foi a face dada pela filosofia política de Maquiavel.
Nicolau Maquiavel (1469-1527) foi um precursor da maneira moderna de ver a política. No lado oposto da utopia e da imaginação cristã, sua ideia foi a de escrever, com o máximo de realismo, o funcionamento do poder - o trabalho de controle do governante sobre os governados. Sua obra, O Príncipe, não foi escrita para ser tomada como um manual ético-moral aplicado à política, mas como um texto cuja pretensão é a de mostrar o funcionamento dos mecanismos que surgem entre governo e governados, entre poder político e povo, mecanismos estes que são administrados pelo governante em favor da manutenção do Estado e em favor da governabilidade. Ainda que no campo da filosofia política, o que demandaria uma certa preocupação antes com o dever ser do que com o ser, Maquiavel dedicou-se claramente ao que seria uma forma precursora da ciência política.
Pode-se pensar, não sem alguma dose de razão, que o correto seria ler Maquiavel como quem escreveu antes para o povo do que para qualquer príncipe. Ele teria escrito para os que não sabem como os mecanismos reais da política se desenvolvem, quando se trata de preservar o Estado e o poder, e não para os setores dirigentes, cujos filhos já nascem no ambiente político e são familiarizados com as necessidades do poder. Todavia, isso não quer dizer que a obra de Maquiavel não seja uma obra autêntica de filosofia, bem montada a partir de uma determinada e clara posição ética.
A visão da vida política estampada por Maquiavel se colocou em ruptura com as finalidades éticas da postura da filosofia medieval, que em parte perdurou no Renascimento, em especial aquela defendida por Tomás de Aquino. A filosofia de Tomás de Aquino foi a responsável por uma ética de relacionamento estreito entre fins últimos e virtudes morais. As virtudes mo rais estariam em consonância com as necessidades práticas e em acordo com a situação natural. Elas contribuiriam para as demandas de interesse nas virtudes, moralidade, bem comum da comunidade e, também, para a abordagem do ser humano a partir de uma visão religiosa, uma visão de Deus.
Quanto ao interesse, a pergunta colocada por Aquino era sobre por que as virtudes poderiam ser assumidas como algo da preocupação do homem? A resposta, dada pelo próprio Aquino, era a de que nelas - nas virtudes - estariam expressas a regulação das paixões por meio da razão prática. Ora, eis então a regulação que interessaria ao homem, de modo a tornar possível sua vida social e sua natureza política.
Quanto ao bem comum e a respeito do abordagem do homem a partir de uma visão de Deus, Aquino confirmou sua tese de que a necessidade de moralidade e o bem comum da comunidade seriam elementos companheiros, um requisitaria o outro em igual medida. O bem da comunidade não apareceria sem manter a tiracolo um padrão de conduta, e este, por sua vez, facilitaria a moralidade subjugada às finalidades comunitárias. Por fim, sobre a questão de se ter uma visão compreensiva do bem nesta vida - a vida terrena - dever-se-ia comprendê-la como pré-requisito facilitador para se ter a "visão de Deus" na próxima vida.
Assim, as virtudes foram elencadas na sua utilidade para a vida social e política e, no caso específico das virtudes cristãs - especialmente a humildade, que era a novidade que o cristianismo colocou diante do mundo pagão -, Tomás de Aquino não as viu como conflitando com as virtudes que seriam apropriadas ao cidadão, como a bravura e a magnanimidade. No entanto, não foi isso que Maquiavel pensou a respeito das virtudes.
Maquivel deixou claro que as virtudes cívicas e militares, necessárias para o funcionamento da política, não podiam conviver com virtudes cristãs. Ele não só fez a defesa dessa ideia como criou uma argumentação apropriada para mostrar seu ponto de vista. Conduziu essa argumentação a partir da importância da tarefa que conferia à política, a saber, a de preservação do Estado. Sem as virtudes cívicas, tudo poderia vir à ruína.
Mas quais foram as virtudes cívicas que foram propostas? O mundo grego antigo deu alguns dos elementos para a filosofia política de Maquiavel. Ele considerou que os cidadãos deveriam ter em mente a preservação de sua República1 - o regime pelo qual ele mais teve apreço - no sentido de evitar o controle externo. Além disso, haveria a necessidade da coesão interna. Os objetivos da República necessitariam de um conjunto de características de seus cidadãos, e isso é o que alimentaria as virtudes cívicas.
Assim, ele postulou duas características básicas das virtudes: motivação para fazer sacrifícios individuais pelo bem comum e desejo de glória, o que poderia levar alguém a adquirir o chamado espírito público. Todavia, em Maquiavel, nunca houve qualquer dúvida sobre a prioridade dos meios, fossem quais fossem, quando se tratava de ter como fim a preservação do Estado. Foi exatamente nessa questão que ele entendeu que a doutrina do cidadão não viria nunca a ser conciliável com a moralidade cristã, ou talvez com nenhuma moralidade.
Diferentemente de outras situações, anteriores e posteriores, o Renascimento proporcionou antes uma arte expressivamente filosófica do que uma filosofia da arte. De certo modo, é correto dizer que a filosofia do Renascimento se fez, em grande parte, pelos seus artistas. Uma das histórias mais ricas de significação filosófica foi a protagonizada pelo pintor Rafael.
Em 1508, Rafael di Sanzio (1483-1520) foi chamado a Roma para produzir afrescos nas salas do Vaticano. Entre tantos de seus trabalhos que se tornaram famosos, há o célebre afresco A Escola de Atenas. No centro do quadro ele colocou Platão e Aristóteles, sendo que o primeiro aponta para cima e o segundo para baixo. Retrata bem, portanto, o debate central da filosofia medieval - a polêmica dos universais, na qual o platonismo concede existências aos universais enquanto formas, e o aristotelismo aponta a existência nos elementos individuais e "terrenos". Mas o espírito de sua época não se resumiu a isso, o de colocar a arte para, de um modo novo, fazer o que a filosofia faz. O espírito desse tempo foi o de Rafael na sua especial capacidade de ironia humorística diante do mundo. Pois o quadro de Rafael já seria uma grande afronta à Igreja, caso ficasse fora do Vaticano, todavia, uma vez dentro do Vaticano e pintado com o aval do Papa, tornou-se um emblema renascentista de um humor próximo ao de Dante.
O nome original do afresco é Causarum Cognitio. A partir do século XVII, as pessoas começaram a se referir a ele como Escola de Atenas (Figura 1.1). O afresco não é uma alusão a qualquer uma das escolas filosóficas da Grécia Antiga, nem mesmo ao conjunto delas. Trata-se de um quadro em que há a pretensão de mostrar o saber vigente em sua própria época, uma saber que seria o deriva do dos clássicos. Todavia, em cada grupo de pessoas do quadro, Rafael contou uma ou mais histórias, tão indecifráveis sobre seu significado quanto foram escorregadios os ensaios de Montaigne.
Figura 1.1. Escola de Atenas (Causarum Cognitio).
Rafael fez A Escola de Atenas (1510-1511) quando tinha apenas 27 anos. O trabalho foi uma encomenda do Papa Júlio II para o adorno de uma parede da "Stanza della Segnatura", e Rafael foi o escolhido por indicação de um conterrâneo seu, da cidade de Urbino, Donato Bramante. Este era o arquiteto do Papa, e foi ele mesmo quem acolheu o jovem no Vaticano. O Papa ficou entusiasmado com os esboços de Rafael e deu-lhe liberdade de ação. O jovem pintor usou de toda essa liberdade, e ainda mais um pouco - por sua conta e risco.
Os scholars têm mantido um longo debate sobre "quem é quem?" no quadro. Os resultados incertos que alimentam a disputa dá asas à imaginação. Pode-se olhar para o quadro de Rafael por vários prismas, sendo que três deles se entrelaçam muito bem à filosofia.
Figura 1.2. Platão retratado com a cabeça de Da Vinci (em detalhe).
Primeiro, há ali uma clara lição de manual de filosofia. Trata-se da alusão a um tema que veio da Antiguidade para os tempos medievais, e que ainda é um tema importante da metafísica atual, a chamada "questão dos universais". É o que está no centro do quadro, personificado nos gestos de Platão e Aristóteles. Segundo prisma: o chiste é claro no quadro, uma vez que há uma série de figuras com as cabeças substituídas. O que salta à vista é a figura de Platão, retratado com a cabeça de Da Vinci (Figura 1.2). Há vários elementos que os estudiosos conjecturam como sendo filósofos com a cabeça de outros - este é um tema recorrente na literatura sobre o afresco. O terceiro prisma é o da subversão - a subversão da filosofia. Este é um tema delicado.
Voltando os olhos ao quadro, pode-se observar que há duas figuras que, diferentemente das outras, olham para o observador. Uma delas é a figura do próprio Rafael (Figura 1.3), que se apresenta no reconhecido lugar do pintor Apelles - do tempo de Alexandre, o Grande -, ao lado de uma figura que poderia ser o pintor Sodoma, contemporâneo do próprio Rafael, ou seu mestre Perugino, que havia sido o primeiro convidado pelo Papa a fazer o afresco. A outra é Hipátia, matemática e filósofa que viveu mais ou menos entre 350 e 415 - e esta é uma das subversões de Rafael.
Figura 1.3. Rafael e Hipátia (detalhe).
A vida de Hipátia é mais uma daquelas que entra para o conjunto das histórias que depõem contra a Igreja Católica. Essa filósofa atuou em Alexandria e no Egito, e era vista como bonita e inteligente. Sua morte foi bárbara, nas mãos de fanáticos cristãos. Eles a esfolaram viva e depois a queimaram, arrastando seu corpo pela cidade. A pessoa que chefiou o grupo pertencia à Igreja, e séculos mais tarde foi elevada à condição de "doutor da Igreja" pelos "feitos prestados" de proteção ao cristianismo. Há vários relatos de como Rafael usou de habilidade para incluí-la ali no quadro. Todavia, é provável que o artista não tenha sofrido censura pa paiapenas alguns olhares atravessados de bispos. Mas ele soube terminar a obra usando de um subterfúgio: o rosto de Hipátia, do esboço para o final, ficou assemelhado ao de um jovem, nada mais nada menos que o sobrinho do Papa Júlio II (Giuliano delia Rovere), Francesco Maria 1 delia Rovere, também retratado por Rafael (Figura 1.4). Assim, os bispos se aquietaram.
Figura 1.4. Rosto de Hipátia assemelhado ao de Francesco Maria I della Rovere.
Rafael deve ter se sentido satisfeito ao fazê-la olhando os atos papais - o único par de olhos (e femininos!), a não ser o dele próprio, a fitar os eclesiásticos que ali estivessem. Rafael imortalizou Hipátia no seio da Igreja, e a colocou como se estivesse vigiando os herdeiros intelectuais e doutrinários dos seus assassinos. Hipátia está lá no Vaticano, dentro dos aposentos papais, fitando eternamente - e nos olhos - os mais devotos adeptos da Igreja.
Mas, pode-se imaginar outras diatribes de Rafael. Não seria errado querer ver uma espécie de ironia vingativa na forma como Rafael se colocou como personagem do afresco, trazendo junto Sodoma. Foi uma vingança contra Platão. Ou melhor, uma vingança contra a filosofia. Uma forma de fustigar a própria recuperação dos clássicos pela sua época.
Sabe-se o quanto Platão condena a presença dos poetas na sua cidade justa, em A República. Essa condenação termina também, em certo sentido, por atingir todo tipo de artista. A ideia básica da condenação tem a ver com a condenação da imitação. Platão entende que o mundo dos objetos sensíveis é o mundo imperfeito - existente, porém, não é real (ou tem um baixo grau de realidade). Ora, o artista, não raro, é um imitador. E se imita o que é o sensível, então seria o imitador de algo que já é por si mesmo cópia. De que serviria os que imitam a imitação em uma cidade que busca guiar-se pela verdade? Esse raciocínio platônico determinou que Platão desse um voto de desconfiança aos artistas.
Figura 1.5. Rafael como pintor-ator.
No afresco, no entanto, há um tipo de "estranho no ninho" dos filósofos; eis ali um artista: Rafael (Figura 1.5). E eis que se dá ao direito de, junto com Hipátia (uma mulher!), também olhar nos olhos do observador. Todavia, a afronta apresenta-se maior na medida em que Rafael não é a cópia de Rafael, pois quem está ali é o Rafael como pintor-ator. Isto é: duplamente artista. Ator? Sim, pois, neste caso, ele desempenha no quadro o papel de Apelles, outro pintor. Aliás, um pintor adequado, pois viveu no tempo de Platão e Aristóteles (mais do segundo, uma vez que esteve na Corte de Alexandre).
Assim, na sua própria figura que se apresenta ali, olhando para quem observa o quadro, Rafael (Figura 1.6) coloca alguém que mostra o que Platão mais odiava: a imitação da imitação. E isso por meio de artistas imitando artistas, para tornar todo o processo de apologia da cópia ainda mais acentuado, para irritar o espírito platônico.
Figura 1.6. Retrato de Rafael.
A subversão de Rafael é um dos melhores exemplos do espírito de humor e ironia do Renascimento.
Interpretado de um modo simples e tradicional, o quadro A Escola de Atenas, de Rafael, pode ser assumido apenas como uma estampa do que sua época queria mostrar como sendo o saber universal que valeria a pena cultivar, o legado greco-latino segundo os olhos da época. Seria um erro esquecer que, no interior dessa cultura, também a escola cética teve seu espaço. O ceticismo ganhou uma forma renovada na cultura do Renascimento.
Em 1562, foi publicado Hipóteses pirrônicas, de Sexto Empírico (século III)2, um livro que veio a calhar em uma época em que as disputas sobre a verdade, no campo da filosofia, estavam somadas às disputas sobre a autoridade da razão no campo do combate entre a Reforma e a Contra-Reforma. Montaigne leu este livro e se encantou. Em 1580, escreveu o ensaio que o consagrou como um filósofo adepto ao ceticismo: Apologia de Raymond Sebond. A julgar pelo título, o ensaio deveria ser uma defesa das posições de um teólogo espanhol de nome Sebond, cujos escritos foram apresentados a Montaigne por seu pai que, inclusive, sugeriu a tradução. O contexto exigia, para uma defesa, sacar argumentos contra os ateus que criticavam a posição de Sebond, uma vez que este punha a religião como questão de fé e, portanto, não possível de ser avaliada pela razão. Ainda que, ao final, também Montaigne tenha concluído isso, o modo como ele caminhou no texto pouco tinha de religioso em um sentido estrito, sendo uma maneira especificamente filosófica de desconfiar da razão.
No ensaio em questão, Montaigne divide os filósofos em três tipos: dogmáticos, céticos acadêmicos e céticos pirrônicos. Define os primeiros como sendo todos os filósofos que acreditam poder apresentar enunciados verdadeiros e bem justificados, ou seja, o conhecimento autêntico, segundo a definição socráticoplatônica. Os segundos são os que, desde a Academia de Platão, após a morte deste, colocam-se na defesa de que o máximo que é possível alcançar é a verossimilhança, não a verdade. Os terceiros são os que, acompanhando Pirro de Elis e seu discípulo tardio, Sexto Empírico, entendem que a posição dos céticos acadêmicos, uma vez que eles fazem afirmações, os leva ao que seria um tropeço na linguagem, o que, não raro, seria a origem de problemas filosóficos. No caso específico, eis o tropeço: se é possível fazer a afirmação de que a verdade não pode ser obtida, então, esta mesma frase, a verdade não pode ser obtida, não pode ser considerada verdadeira sem que se entre por uma contradição lógica. Ora, o ceticismo pirrônico, como Montaigne o absorve, nem afirma nem nega a possibilidade da verdade. Seu trabalho é o de manter a investigação sempre em curso pelo prazer da investigação, inclusive pelo prazer da disputa. Nesse caso, a prática é a de epoché, a suspensão dos juízos. É essa prática que permite à investigação nunca ter seu fim. Para cada razão posta talvez se possa sempre encontrar uma razão contrária também boa - e é isso que o cético deve fazer. Sendo assim, no que concerne à razão, a investigação segue seu curso. Ora, o religioso é aquele que lida com o que é aceito pela fé, exatamente porque sabe que a razão tem esse caráter de produzir antinomias, produzir o nem isso nem aquilo.
Na tradição da Academia, o ceticismo se via herdeiro de Platão na medida em que este havia escritos os primeiros diálogos, ou seja, os diálogos aporéticos. Sócrates jamais chegava a um resultado definitivo - isso foi enfatizado por eles. Os acadêmicos puseram-se, assim, em relativa divergência diante dos argumentos de Pirro. Na leitura que fez de Sexto Empírico, Montaigne trouxe Sócrates para seu lado. Sócrates teria sido o autêntico cético, nunca encerrando a sua investigação.
É interessante notar que em meio ao desenvolvimento do seu ceticismo, que dependeu, sim, de uma disposição de colocar a razão em posição humilde, Montaigne criou uma série de argumentos em favor da inteligência dos animais. A intenção era mostrar que o fato de os humanos serem dotados de razão não era um privilégio tão grande, o que se perceberia facilmente ao observar os animais fazendo obras até melhor que os homens. Essa maneira de argumentar, a saber, a criação de objeções ao que está estabelecido, no contexto em que foi usada era estranha tanto aos religiosos quanto ao humanismo vigente. Para os religiosos, fossem protestantes ou católicos, o homem havia sido criado por Deus como ser superior aos animais, e o humanismo, por sua vez, havia feito mais que isso ao colocar o homem como centro do Universo. Assim, por um lado, se Montaigne terminou por circunscrever a razão a uma sala de limitações, por outro lado, a maneira de seu argumento, que nada era senão o procedimento do ceticismo, manteve intacto o espírito rebelde do Renascimento. Nada era para ser concluído. E foi com esse estilo e propósito que Montaigne escreveu Apologia.
Entre 1805 e 1806, o filósofo alemão Friedrich Hegel (1770-1831) deu as suas célebres aulas de história da filosofia. Ao final do século XIX, elas já eram uma referência obrigatória para qualquer estudante de filosofia. Nessas suas lições, ele considerou Descartes aquele que efetivamente deu início à filosofia moderna. Nem sempre pelas mesmas razões de Hegel, outros que escreveram sobre história da filosofia acabaram reiterando essa sua indicação. Nunca ninguém discordou sobre isso. Descartes foi assumido como aquele que rompeu com os escolásticos, isto é, com os filósofos da escola, os padres, ou leigos ligados à Igreja, cujo trabalho de ensino da filosofia era o de colocar o estudante na tarefa de leitura dos textos de filósofos - não raro, o aristotelismo de Tomás de Aquino - antes para repetí-los do que para criticá-los. O que se cristalizou com as lições de Hegel foi a ideia de que os modernos assim foram chamados à medida que se ligaram a uma filosofia mais afeita à liberdade do pensamento autônomo.
Alguns historiadores da filosofia enfatizam excessivamente essa verdade fixada pela história da filosofia de Hegel e terminam por esquecer de uma outra verdade que, de certo modo, pode ser sintetizada desta forma: os primeiros modernos foram antes opositores da Renascença do que propriamente inimigos do pensamento medieval. Isso pode ser dito à medida que é observável a desconfiança dos modernos em relação ao elemento-chave da postura filosófica do Renascimento: a imaginação. Qual é a razão dessa desconfiança?
A desconfiança dos primeiros filósofos modernos quanto à imaginação se fez sentir em duas frentes de trabalho filosófico: psi cologia e ciência. A descrição da psicologia humana por Thomas Hobbes (1588-1679) gerou consequências diretas para a filosofia política. A observação de Francis Bacon (1561-1626) a respeito da ciência e o próprio trabalho científico de René Descartes (15961650) trouxe consequências para a metafísica e para a epistemologia. Cada um desses filósofos se insurgiu contra a imaginação por uma via particular. Percorrendo as três vias, pode-se saber porque a imaginação recebeu olhares negativos.
Há sucesso do professor entre os estudantes, quanto à história da filosofia deste período. A modernidade, uma vez tratada como uma época que se abre não em favor da imaginação, mas em reação a ela, é algo curioso por si só. A curiosidade é despertada por meio do estranhamento, e isso ocorre, principalmente, se os alunos já tiveram, nas aulas de história ou equivalentes, informações canonizadas sobre a modernidade, recheadas de elogios. Todavia, quando o aluno perde o interesse, nem sempre é inútil recorrer a alguns elementos da vida dos filósofos em questão. Não há falta de material estimulante, neste caso, em especial a relação amigável entre Hobbes e Descartes. Este chegou a dizer que Hobbes era bom em filosofia moral, mas não no resto da filosofia. Hobbes, por sua vez, disse que Descartes teria feito melhor se ficasse só na geometria. Talvez possa ser gratificante ver que esse tipo de relacionamento entre os dois homens foi chamado por vários historiadores, não raro, de respeitosa, e eles não estavam querendo ser irônicos!
Aliás, sobre Descartes, não há como não deliciar os estudantes contando a esquisita história do dualismo. Quando o assunto é o dualismo mente-corpo, a melhor pedida é lembrar a todos que, se de certo modo é possível falar que a mente tem a ver com o cérebro, então, o próprio Descartes, um dualista, foi vítima do destino irônico. A história se passa com o cadáver de Descartes.
Conta-se que o químico sueco Berzelius, passeando por Paris, ficou sabendo que no túmulo de Descartes não havia nenhum crânio. Era verdade, e isso o impressionou. Como que os franceses, tão ciosos da sua tradição racionalista, haviam deixado lá o corpo do grande filósofo francês e pai da corrente racionalista, sem cabeça? Berzelius voltou para a Suécia com isso na memória. Um dia, vagueando pelas ruas de Estocolmo, foi avisado de um grande leilão. Iriam leiloar uma peça interessante: o crânio de Descartes. Ora, então o crânio estava ali, na sua própria cidade? Sim. Berzelius foi ter com o comprador e conseguiu o crânio. Poderia ter vendido, mais tarde, como uma relíquia, mas falou mais alto seu amor pela ciência. Entregou-o ao governo francês. Somente assim o crânio de Descartes chegou à sua terra natal. Isso foi em 1821. Descartes faleceu em 1650, na Suécia. Quase dois séculos de separação entre "corpo" e "cabeça"! Eles foram unidos, depois disso? A história dessa separação tem várias peripécias.
Quando os ossos de René Descartes foram transferidos da Suécia para a França, houve a separação. Com a desculpa de fazer sobrar espaço, colocaram a cabeça em uma caixa menor e o corpo em outro recipiente. Não se sabe a razão correta pela qual o capitão do navio quis ficar com o crânio. Pode ser que achou interessante ser o proprietário de um crânio famoso ou, talvez, como velho marujo, quis apenas ter uma caveira em cima de sua escrivaninha, nas dependências de seu barco. Assim, o esqueleto chegou à França e lá ficou, mas o crânio não. Atualmente, esse crânio, contendo ainda o nome dos seus vários proprietários e outras inscrições estranhas, está no Museu do Homem, em Paris. O crânio fica lá, simbolicamente colocado ao lado do crânio marcado como "Cro-magnon, idade: 100 mil anos". Nunca mais conseguiu voltar para junto do resto do esqueleto.
Ora, se de algum modo pode ser válido dizer que o crânio abriga o cérebro e este é o "lugar" da mente, então eis aí a separação mente-corpo da qual Descartes foi vítima - após a morte!
Enquanto a filosofia política renascentista de Maquiavel tentou descrever o exercício do governo, segundo o objetivo de manutenção do Estado, Hobbes e vários outros modernos se preocuparam em encontrar uma base de legitimidade do exercício governamental que pudesse ser colocada logicamente anterior à forma do governo. Ou seja, antes de perguntar sobre as diretrizes de um governo, os modernos quiseram dizer por que, afinal, vivemos em sociedade. Nesse intuito, os modernos utilizaram de uma explicação que ficou conhecida como teoria contratualista. Os homens sairiam de um hipotético estado de natureza para o estado vigente - a vida social - ou o que simplesmente poderia ser chamado de estado, por meio de um contrato firmado por todos. Isso é o que os modernos, dentro do jusnaturalismo contratualista, comungavam - a criação do estado pelo ato do contrato social. Eles divergiam, no entanto, na descrição da vida do homem em estado de natureza e, então, também quanto ao que seria o melhor estado, ou seja, a melhor forma de vida na sociedade pós-contrato.
No caso da formulação de Hobbes, segundo o seu livro O Leviatã, o estado de natureza é substituído por um estado poderoso, governado por um soberano de vontade absoluta. Essa situação é legitimada por um contrato entre todos os homens que, no ato contratual concordam, coletivamente, em abrir mão de suas vontades individuais em favor da vontade do soberano, cujas obrigações para continuar sua legitimidade implicariam em garantir a paz e a vida social regular. Ora, mas qual é a razão dos homens, em determinado momento, desejarem sair do estado de natureza, vindo a se submeter a um estado forte? Uma única razão: o medo.
No estado de natureza de Hobbes, o homem é o lobo do homem e, não raro, prevalesce a guerra de todos contra todos. Caso isso não seja fato, ao menos na imaginação de cada um é o que pode ocorrer. A psicologia hobesiana mostra o homem natural sempre ameaçado pela sua imaginação: o fraco imagina que irá ser massacrado pelo forte, podendo, inclusive, não só perder bens, mas a própria vida, enquanto o forte imagina que o fraco se vingará dele quando cair no sono e não puder mais manter a vigília. Tudo isso não precisa acontecer para criar o medo, para tornar a existência insuportável, pois a imaginação do homem já é o suficiente para gerar a apreensão e a angústia, o medo que leva o homem, então, ao contrato e ao estado social.
Hobbes chegou a essa formulação por comungar de uma visão típica dos primeiros modernos, a de seguir o "lê a ti mesmo" (Nosce te ipsum). Nada além de um tipo de "conhece a ti mesmo". Livre da concepção de que as paixões e toda a psicologia humana são produtos históricos, uma ideia que só vingou a partir do final do século XVIII, Hobbes entendia que, em todos os tempos e lugares, ao se observar o homem, não seria difícil ver coisas muito semelhantes e, então, tirar daí um retrato da natureza humana. Segundo esse retrato, seria razoável enxergar as causas da violência na busca de glória e na proteção da honra.
O indivíduo humano hobbesiano é movido pela honra, e de modo algum pela busca de riquezas. Ele tenta a todo custo manter a sua imagem de quem não foi desonrado, e seu objetivo contínuo é a glória. Não mede esforços no sentido de ser apreciado e assumido como glorioso. Assim, movido por uma psicologia fomentada pela honra e pela glória, esse homem de Hobbes é um eterno atormentado pela imaginação. Ele imagina que a todo momento pode ser desonrado, e ele parte para obter a glória sobre o outro, não raro, até mesmo quando o outro ainda nem o atacou, mas fez apenas um gesto possível de ser interpretado como agressivo. Isso não desaparece na situação já de estado social, mas, uma vez neste estado, só a força de um soberano que tudo pode, legitimado pelo contrato, consegue manter a vida comunitária em paz. Neste caso, o medo não desaparece, mas atinge níveis mais baixos, diminuindo a angústia e permitindo que a vida social ocorra. Assim, o estado forte de Hobbes é o oposto do estado de terror. O terror está na vida em estado de natureza, que tende a quase desaparecer em um estado social.
Hobbes não foi simpático à imaginação, pois a associou à produção do medo. Outros também quiseram colocá-la de lado, não pelo medo, mas porque ela seria a principal causa do erro humano. Diferentemente do final do século XVIII e do século XIX, quando a imaginação ganhou aplausos dos românticos, por ser promotora da poesia e da literatura, ou mesmo o incentivo dos iluministas, por ela fomentar a revolução ou a Reforma, no início dos tempos modernos ela estava associada ao pensamento da criança, à imprecisão das fábulas - tudo aquilo que parecia ter sido exacerbado no Renascimento. A imaginação era vista, então, como o impecilho para a ciência moderna que começava a se desenvolver e a conquistar quase a totalidade dos filósofos.
Em virtude da imaginação, os homens não observariam a natureza e não se apegariam ao modo como esta, enfim, gostaria de comunicar suas verdades. Fugir da imaginação para, então, voltar aos textos da escola, para repetí-los, não seria uma boa saída. Os primeiros modernos queriam uma terceira opção entre a imaginação e a tradição, entre o Renascimento e os Tempos Medievais. Assim, diante de uma simples pedra que cai, eles queriam poder explicar esse fenômeno sem imaginar coisas, o que os levaria à magia, e sem ter de recorrer aos ditos aristotélicos, sempre descansando nos livros de cabeceira dos escolásticos.
O que é que cai mais depressa, um tijolo bem pesado ou um tijolo leve? Muitas pessoas apostam que o mais pesado cai mais depressa. Além de cometerem esse erro, insistem que não poderiam estar enganadas, uma vez que teriam dado a resposta mais plausível, de acordo com a intuição. Todavia, um estudante do primeiro ano do Ensino Médio pode se divertir em contrariar a intuição dessas pessoas ou até mesmo a sua própria intuição. É um saber corrente que a velocidade de uma peça em queda livre não tem qualquer dependência da massa do objeto. Mas, antes do século XVI, nem adultos altamente escolarizados tinham essa informação banal. Foi Galileu Galilei (1564-1642) que mostrou que a velocidade de queda livre segue dependência apenas da variável tempo1. Fazendo experiências e, então, dando os primeiros passos para a equação matemática que, depois, se integrou facilmente na Teoria da Gravitação Universal de Isaac Newton (1642-1727), Galileu garantiu o início de uma física matematizada que, dali em diante, nunca mais perdeu prestígio.
Galileu entendia que Deus - ou a natureza - tinham uma linguagem própria: a da matemática. Para compreender o que a natureza queria dizer fazia-se necessário, então, encontrar equações de relacionamentos entre elementos da natureza, de modo a descrever os fenômenos e, de certo modo, explicá-los. O mundo do Renascimento estava findado. Pois o seu principal elemento digno de cultivo, a imaginação, não recebia mais palmas. Sempre pronta para lançar-se ao inexato, a imaginação, louvada por abrir espaço para a ficção, teve de ficar de lado diante do Deus de Galileu, pouco receptivo para aquilo que não poderia ser descrito de uma maneira regular pela linguagem matemática. Esse foi o espírito cuja diferença com o dos tempos anteriores conseguiu caracterizar uma nova era: a modernidade.
Galileu agiu de um modo evidentemente novo. Ele parou de ouvir a tradição. Fechou os livros da física de Aristóteles reconsiderados à luz das necessidades da cosmologia oficial da Igreja. Iniciou uma nova forma de fazer ciência, articulando a razão com a investigação empírica. Inclusive, a partir dele, a própria noção de empiria foi alterada. Aliando provas experimentais e matemática, Galileu fez até mais que o necessário para ser considerado o símbolo do início da chamada ciência moderna.
Em vez de dar nome a supostos elementos causadores dos fenômenos, o que foi uma prática por toda a Idade Média e também no Renascimento, Galileu e outros de seu tempo procuraram matematizar os fenômenos, descrevê-los pelas relações entre constantes e variáveis, em equações. A matemática não estava preparada para tal. Assim, também ela se desenvolveu. Os matemáticos e físicos da época começaram a criar uma notação própria, capaz de ser compreendida por pessoas de diversas línguas, uma vez que as equações deveriam descrever os mesmos tipos de fenômenos em lugares diferentes.
Esse tipo de ciência, em comparação ao desenvolvimento científico passado, começou a dar passos rápidos. Seus conhecimentos passaram a se relacionar de modo mais direto com a tecnologia que, inclusive, havia estado em aliança com as práticas das Grandes Navegações e seus derivados. Ora, em um mundo assim, valeria a pena ser cético? Os saberes humanos estavam se legitimando pelo funcionamento de feitos práticos, tecnológicos. Por um lado, indicavam que uma nova cosmologia deveria nas cer, e que a visão geral do mundo oficializada pela religião cristã iria ser abalada. Por outro lado, também alimentavam pessoas que, mesmo não ligadas diretamente à ciência, logo se viram menos inclinadas ao ceticismo, dando novamente crédito para a razão humana quanto à sua capacidade de dizer verdades.
Essa nova confiança na razão, no campo filosófico, trouxe ânimo para uma retomada de projetos filosóficos grandiosos. Os problemas metafísicos continuaram a ser privilegiados pelos filósofos. Todavia, eles deram uma certa autonomia para a epistemologia - a teoria do conhecimento. Isso tudo teve considerável efeito, modificando a filosofia.
Desenvolver projetos em metafísica para mostrar o real e, então, distingui-lo da aparência, se aliou ao projeto nitidamente epistemológico de explicar os mecanismos pelos quais o senso comum estaria envolto na ilusão. Em um primeiro momento, a questão central foi a de indentificar os elementos produtores da ilusão, os responsáveis pelo fato de senso comum tomar o aparente pelo real. Em um segundo momento, foi cobrado da filosofia não só a identificação desses elementos, mas a produção de uma explicação sobre o seu funcionamento. Essa primeira tarefa abriu a modernidade, e Francis Bacon (1561-1626) esteve à sua frente. A segunda tarefa esteve no bojo do debate entre racionalistas e empiristas, e ganhou um ponto de chegada, ao menos temporário, com a filosofia de Immanuel Kant (1724-1804).
Diferentemente dos pensadores medievais, os pensadores renascentistas e os primeiros filósofos modernos não foram professores. Como a maioria dos pensadores modernos, ao menos até Kant, Francis Bacon seguiu uma carreira não ligada à universidade.
Bacon sabia o que era a ciência, mas não era um homem da prática científica. Todavia, o modo como soube tirar dela uma visão filosófica, o fez consagrar a própria visão do que veio a ser, para os que vieram depois dele, a modernidade.
Bacon foi o autor popular da frase "saber é poder" ou, de modo mais exato, "conhecimento e poder humano vem a ser a mesma coisa". Para ele, como para Aristóteles - cujas obras princpiais ele conhecia muito bem -, o conhecimento é o conhecimento das causas. Todavia, diferentemente de Aristóteles, Bacon não endossou o finalismo, ou seja, a adoção da ideia da necessidade da "causa final". Assim, mesmo não sendo ateu, Bacon não via nenhuma necessidade dos feitos filosóficos dos "escolásticos". Sua posição era a do homem culto que entendia que estava em uma revolução, e esta não seria outra coisa senão a entrada da tecnologia na vida social. Isso sim, e não as disputas político-religiosas - que preocupavam tantos outros filósofos - era o conteúdo da transformação de seu tempo, segundo o seu entendimento.
A tecnologia seria a modificadora do pensamento e da ciência, e não o contrário. Bacon assistiu à invenção da imprensa como o motor de transformação da literatura. Ele viu a entrada das armas de fogo como o elemento essencial da alteração das formas de guerra e da política. Ficou maravilhado com a descoberta do magnetismo, e soube perceber que as invenções para seu uso (a bússola) eram de fato o que teria criado a nova navegação e a possibilidade de encontrar novas terras. Diante disso, a ciência aristotélica, mais qualitativa e de pouca representatividade matemática e experimental, não poderia resistir. Bacon anunciou sua morte e quis colaborar no seu enterro.
Contra a ciência aristotélica, ele fez a descrição - e apologia - do método científico moderno e do que seria a "correta indução". Ainda que tenha descrito os passos científicos sem levar em conta um passo hoje considerado central, o da formulação de hipóteses, foi feliz ao fornecer uma visão de conjunto da nova relação do homem com o conhecimento.
Bacon jamais se colocou contra a teologia, como se esta fosse mera ignorância, mas advogou uma separação entre esta e a filosofia. Firmou sua posição de que seriam conhecimentos diferentes. O conhecimento filosófico (que engloba o que hoje chamamos de ciência) seria o necessário para que os homens viessem a ter o controle do mundo. O controle seria o objetivo do conhecimento, não outra coisa.
Filosoficamente original foi a sua teoria do erro ou teoria dos "ídolos". Quanto a este ponto, Bacon foi verdadeiramente um homem moderno. Logo após ele, com Descartes, a filosofia veio a conceber a distinção entre erro psicológico e erro metafísico. Bacon não faz uma distinção como a de Descartes. Mas, em o Novo Organum, o modo como comenta o erro é abrangente e profundo e, de certo modo, não deixa de apanhar alguns aspectos da "ilusão metafísica". O erro que pertence ao campo de estudo da metafísica ou a "ilusão metafísica" é aquele que os filósofos consideram como o responsável por uma prática comum dos homens: o de tomar o ilusório pelo real de um modo necessário. O ilusório é mostrado como pertencente ao real e, portanto, mesmo denunciado, não desaparece. Pode-se acreditar nele como um erro, mas denunciá-lo não torna ninguém, de modo imediato, livre dele. O erro psicológico, por sua vez, é aquele que mesmo provocado por estruturas fortes e que estão além da capacidade de controle de um indivíduo, uma vez denunciado tende a ser, mais cedo ou mais tarde, corrigido, e, então, desaparece.
Presente em seu Novum Organum, a exposição sobre os ídolos, como Bacon a formula, faz parte de uma teoria do erro, quase que independente do campo metafísico. Neste livro, Bacon deposita sua crença no que seria o bom trabalho indutivo, o que evitaria os "ídolos" e tiraria o homem do engano e do erro. Para deixar isso claro, enumera os "ídolos", explicando-os um a um. Cria uma espécie de mapeamento dos possíveis enganos do indivíduo humano. Esse mapeamento visa mostrar que a cada façanha da indução correta, o investigador moderno pode saber muito bem o que está sendo derrubado, isto é, que tipo de "ídolo" está sendo destruído ou deixado para trás.
Essa teoria comporta quatro "ídolos", responsáveis por nossos erros: os "ídolos da tribo", os "ídolos da caverna", os "ídolos do foro" e os "ídolos do teatro".
1. Os ídolos da tribo (idola tribus) são elementos que fazem parte da natureza humana, ou seja, aquilo que é próprio à espécie humana ou, para dizer no sentido específico, a tribo dos humanos. A ideia, nesse caso, é a de que nem sempre vemos como as coisas são. Nem sempre percebemos as coisas de modo correto. E nem sempre entendemos o que deveríamos entender de um modo a agarrarmos o verdadeiro. E isso tudo em razão do fato de que a constituição da natureza humana é deturpadora. Assim, para caracterizar nosso intelecto, Bacon usa a metáfora do espelho. Nosso intelecto é como um espelho que reflete de modo desigual os raios das coisas, causando então imagens distorcidas e corrompidas.
2. Os ídolos da caverna (Idola specus) são elementos próprios aos indivíduos, não à espécie. Cada um de nós, além dos problemas de uma natureza humana pouco apta, possui também algo como uma caverna que cria dificuldades para a luz da natureza. A caverna de cada um, como Bacon aponta, é fruto da constituição individual ou da educação ou da conversação com outros. Também os livros e a fala das autoridades que admiramos trazem sombras da Caverna pessoal. Bacon cita Heráclito para falar disso, lembrando que o pré-socrático teria dito que os homens deixam de lado o "grande mundo" ou o universal e se refugiam em seus "pequenos mundos".
3. Os ídolos do foro (Idola fori) são os elementos provindos da associação recíproca dos indivíduos, ou seja, tudo que criamos socialmente, em especial coisas como o comércio e o consórcio. Pois essa associação é feita pelo discurso, pela linguagem. Ora, uma linguagem assim, criada pelo vulgo, não pode fazer outra coisa senão atuar de modo inepto, bloqueando o intelecto. Os homens sempre são arrastados pelas palavras, mesmo após a análise delas, ao mundo da controvérsia e fantasia, pela forma das palavras, impróprias à fidedignidade por causa de sua origem.
4. Por fim, Bacon fala nos ídolos do teatro (Idola theatri). Aí estariam os elementos errados vindos da própria filosofia ou, melhor dizendo, das várias doutrinas filosóficas a que todo indivíduo tem certo acesso. Os procedimentos viciosos de demonstração de verdades caberiam neste caso. Também aqui, no campo dos ídolos do teatro, é colocado aquilo que é enganoso e que pode vir da ciência. Com esse tipo de ídolo, Bacon enumera os elementos de engano que emergem do pensamento elaborado, e não do pensamento vulgar.
A tarefa de Bacon não foi, é claro, a de louvar o ceticismo moderno, como em Montaigne. Ao contrário, sua visão era a de que os erros poderiam ser evitados. Uma correta indução, como já foi dito acima, podería afastar ou anular os ídolos. Todavia, com sua teoria, Bacon trouxe um pouco do clima de Montaigne, tipicamente francês, para o mundo britânico. Pois deu ao mundo britânico algo valioso: o elogio da desconfiança. A desconfiança, neste caso, não apontava o dedo diretamente contra a imaginação, mas, não é difícil ver a presença da imaginação, como delimitada pelos primeiros modernos, também com um papel essencial em cada um dos ídolos.
Os homens que leram Montaigne e Bacon de modo carinhoso, tenderam a levar a sério as dúvidas e as ilusões. Esse clima intelectual, o de levar a sério filósofos que escreveram no final do Renascimento, empurrou Descartes para um campo além de suas pesquisas em ciência natural e matemática. Uma vez soldado e, portanto, um viajante, Descartes tomou contato com as diversidades culturais que vinham enchendo os olhos de todos naquele tempo. E isso parecia ser alimento para a dúvida e a ilusão, tudo aquilo para o qual o mundo de Bacon e Montaigne havia chamado a atenção.
Descartes não deixou de notar e comentar os problemas da diversidade. Pessoas inteligentes em diversas culturas, e seguidoras de crenças não só diferentes, mas às vezes opostas, o incomodavam exatamente na medida em que ampliavam as chances do relativismo. A insinuação de relativismo e, enfim, de ceticismo, para ele, não era somente algo dos textos. Não se tratava de algo produzido pela leitura de Sexto Empírico. É claro que a diversidade de posições religiosas era, sim, um foco de atenção. E o ateísmo também. Ele chegou, inclusive, a escrever no prefácio de suas Meditações metafísicas, admirado, que já "havia mais de cinquenta ateus em Paris". Todavia, o que realmente conduziu Descartes a pensar melhor sobre as desconfianças em seus conhecimentos, foi o modo como pessoas dos mais diversos lugares, com aparências tão distintas, podiam se encontrar e começar a conversar e, enfim, ora se entender ora não se entender. A filosofia precisava mostrar que não se estava sob pés de barro nesse suposto entendimento.
Uma vez amadurecido como cientista e matemático, essas dúvidas, digamos, antropológicas, fez Descartes acreditar que deveria encontrar algo para além dessas ciências, capaz de garantir a validade desses saberes. O projeto cartesiano remontou, então, a uma das tarefas originais da filosofia, a de encontrar um saber de segunda ordem - um fundamento - capaz de colocar a salvo todo tipo de saber científico que, afinal, não podia ser visto como errado por, não no seu todo.
Convencido da existência de mecanismos, nos procedimentos humanos, não só produtores de erros, mas de ilusões graves, Descartes passou a pensar em um meio para identificar e bloquear tais mecanismos. Era necessário fazer parar a maquinaria que leva o homem a tomar o falso pelo verdadeiro. Como bloquear isso? Conseguindo uma "primeira verdade indubitável". Bastaria uma, e então as outras poderiam ser tiradas por dedução, por silogismos corretos. Isso deveria, talvez, lhe dar um critério para vir a saber quando se está diante de um enunciado ou pensamento verdadeiro - este era o seu problema e sua missão.
Descartes enfrentou o problema, aceitando o desafio cético. E o que dizia o cético? O cético não duvida da verdade - não, ao menos, o cético montaigniano. Ele duvida do conhecimento. Ele fustiga o adversário dizendo que o conhecimento não é possível. Conhecimento, como está em Platão, é "crença verdadeira justificada". O cético não diz que a verdade não existe, pois isso o tornaria adepto de uma frase que é uma autorrefutação. O que ele conta é que todas as vezes que ouve uma afirmação verdadeira, há uma dificuldade grande, talvez impossível, de acoplar a tal verdade uma boa justificação. Então, é o conhecimento que é o ponto sobre o qual recai a dúvida.
Sendo assim, para escapar da objeção do cético, o filósofo deve mostrar que "crença verdadeira bem justificada" é possível, que a justificação é uma pedra preciosa, mas alcançável. Há de se ter um tipo de justificativa que o cético não pode refutar. Descartes entendia que é necessário um único enunciado irrefutável, isto é, um não sujeito a qualquer contra justificação. Teria de ser algo da ordem do que ele chamou de "clareza e distinção". Esse enunciado deveria, ainda, ser o indicador do próprio critério para se admitir uma crença verdadeira. Seria como uma régua que não precisaria, ela mesma, de outra régua para avaliá-la.
Nas Meditações, ele inicia pela aceitação da dúvida. O cético quer duvidar? Pois que duvide, mas ele tem de duvidar com método - isto é o que Descartes impõe ao ceticismo. Descartes se põe na condição de cético e passa a mostrar como é que se duvida metodicamente.
Não há como duvidar de tudo, uma vez que tal tarefa é um projeto infinito; então, propõe duvidar de algo que, caso sua dúvida se mostre eficaz, todo o resto entrará automaticamente em dúvida, até mesmo as crenças e enunciados que ele desconhece. Descartes resolve investigar não o conhecimento, mas as faculdades que deveriam ter propiciado a ele ter em sua posse todas as suas crenças, o seu conhecimento. Coloca em dúvida, dessa maneira, as faculdades pelas quais entende que o conhecimento é gerado: os sentidos, a imaginação e o intelecto.
Nas Meditações, Descartes afirma que tudo que tem em mente vem de fontes determinadas: ou veio por meio dos sentidos ou já estava em sua mente. Duvidar de tudo que tem em mente e tudo que um homem pode ter como sabido é duvidar dos sentidos e da razão (a imaginação estaria subordinada aos sentidos). O que vem pelos sentidos, teria sua primeira morada no exterior à sua alma. O que não vem pelos sentidos e, no entanto, está em sua alma, teria surgido ali junto com ele - seria um conjunto de crenças inatas. As primeiras servem às ciências empíricas, como a física, as segundas constroem as ciências puramente intelectuais, como a matemática. Sua ideia básica é, então, a de colocar tudo em dúvida - o que vem dos sentidos e o que já está, de modo inato, no intelecto. Como fazer isso?
Quanto aos sentidos, Descartes vê que a sua tarefa não é difícil. Uma mão colocada na água quente e depois, na água que antes se apresentava morna, agora identifica essa água não mais como morna, mas fria. Os sentidos podem enganar. E se há a suspeita que ao menos uma vez eles já o engaram, isso já é o bastante para não confiar mais neles. Eles são postos na parede. Todavia, como colocar as crenças matemáticas e geométricas na mesma condição dos sentidos? Como dizer que não são confiáveis enunciados como dois e dois são quatro ou a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Impossível. Uma crença dessa espécie é verdadeira, é certa e indubitável, estando todos os humanos que sabem disso acordados ou dormindo, estando todos aqui na Terra ou não. Dessa forma, para colocar verdades do tipo da matemática em dúvida, é preciso uma estratégia mais sagaz.
O procedimento cartesiano é o de colocar em jogo um hipotético "gênio maligno". Ele postula, então, que há um gênio instalado em seu pensar, em sua cogitatio, de modo a fazer ele se enganar todas as vezes que pensa, mesmo quando pensa nos conhecimentos certos da matemática e da geometria. Ao assumir tal hipótese, Descartes consegue ampliar sua dúvida de um modo que a avalia como irrestrita. Ela é uma "dúvida hiperbólica" neste exato sentido: ocupa todo o espaço. Nada há o que não esteja, agora, em dúvida. Tudo que passa pela sua mente, não é confiável, inclusive sua existência como ser corpóreo ou meramente espiritual. Mas, ao mesmo tempo em que ele estabelece essa forma de duvidar de modo hiperbólico, surge a ele a primeira verdade: para enganá-lo, o gênio precisa acessá-lo o tempo todo, e isso só pode ser feito se ele, Descartes (ou o eu de qualquer um que se submeter a tal exercício das meditações), estiver pensando. Eis aí que ele tem sua primeira verdade e também o critério de verdade, expresso desta maneira: "eu existo, uma vez que estou sendo enganado". Ou nesta forma: "eu sou, eu existo" (Ego sum, ego existo - no texto original, escrito em latim).
Nesse contexto, a primeira verdade ocorre a Descartes nas Meditações. A frase em latim que se tornou célebre, Cogito ergo sum, é de outro texto, o livro Princípios da filosofia. Em O discurso do método ela aparece em francês: je pense donc jê suis - Eu penso, logo eu existo.
Até esse momento de seus escritos nas Meditações, Descartes tem apenas a primeira verdade. A segunda decorre da primeira. Ao indagar o que é este eu, ele chega à ideia de que é uma "coisa pensante" - a substância pensante. Para mostrar que há o mundo, ou seja, algo exterior a ele que também existe, ele lança mão da "prova da existência de Deus" no estilo da utilizada por Santo Anselmo (1033-1109). Ele admite que possui nele a ideia de Deus, uma entidade poderosíssima e perfeita, que tudo criou. Ora, caso essa criatura, então, de fato não existisse - nem seria ela, em ideia, a ideia de Deus, pois estaria já de início lhe faltando algo, a existência.
As Meditações foram publicadas junto com um conjunto de objeções. Nesse conjunto, um dos críticos, Pierre Gassendi, diz não acreditar ser necessário aquele aparato todo para se ter uma verdade inicial do tipo daquela. Como ele expõe, uma ação faz o mesmo papel: quando se diz, "Eu ando, logo eu existo", o resultado é o mesmo. Descartes mostra que Gassendi está errado. Para que a frase possa ir pelo caminho correto, ela deve ser "Eu penso que ando, então eu existo". Pois a questão não é sobre o andar, e sim sobre o pensar. São as cogitationes que dão a certeza, não seu conteúdo. Daí, a frase que permite a certeza é: "Eu penso, logo eu existo". A certeza é quanto ao próprio pensamento, não quanto ao que se afirma no enunciado que o expressa. Pensamento é, em latim, cogitatio. A certeza é, portanto, a respeito de enunciados de cogitatio. Trata-se da certeza do cogito ou, como a historiografia consagrou, simplesmente, o Cogito.
A parte investigativa da filosofia de Descartes repousa, certamente, nas Meditações. Em outros escritos, ele trabalhou segundo um estilo mais expositivo-dogmático. Tanto em um quanto nos outros, Descartes não descuidou de voltar ao tradicional tema da filosofia, tratado por antigos e medievais - a substância2.
Mas a modernidade não se abriu para a discussão filosófica de modo unificado. Nem todos trataram a substância segundo parâmetros semelhantes. O tema da substância foi um importante divisor de águas entre as duas grandes correntes filosóficas modernas, o racionalismo e o empirismo.
Bacon foi quem fez uma primeira boa observação sobre a divisão entre as duas correntes de pensamento moderno. Chamou os racionalistas de aranhas e os empiristas de formigas. Os primeiros lançam teias a partir de si e os empiristas coletam coisas para o seu uso.
Essa tipologia "empiristas e racionalistas" ou "empiristas versus racionalistas" não se fixou na cabeça dos próprios envolvidos, mas quando Kant (1724-1804) anunciou-se como um sintetizador das duas correntes, terminou por selar o que havia sido dito por Bacon. Os racionalistas mais conhecidos, como Descartes (1596-1650), Espinosa (1632-1677) e Leibniz (1646-1716) fizeram filosofia considerando que estavam criando uma descrição do mundo necessária à completude e/ou fundamentação da imagem que a ciência vinha fornecendo. Os empiristas equivalentes, como Locke (1632-1704), Berkeley (1685-1753) e Hume (1711 1776), estiveram mais afinados com um projeto questionador da metafísica - inclusive de sua necessidade ou mesmo validade.
Ao tratarem do problema da substância, eles próprios, racionalistas e empiristas, foram afinando seus instrumentos e suas divergências, embora nem sempre conscientes de que estavam, de fato, em escolas de pensamento diferentes, como elas foram tomadas mais tarde, quando os historiadores contemporâneos as observaram.
Que não se pense que o termo substância, entre o tempo de Bacon e Kant, já possuía a acepção de hoje. Atualmente, a palavra substância lembra algum componente químico, e isso popularmente ou não. Diferentemente, entre o tempo de Bacon e Kant, substância era um termo central para os filósofos racionalistas e, de certo modo, tinha a ver com os constituintes últimos da realidade, ligado à tradição da discussão filosófica. O debate sobre tal noção, nesse período, fazia a ponte entre os modernos e os medievais. Estes, pensaram a partir das contraposições que viram entre Platão e Aristóteles. Os modernos, então, aceitaram esse ponto de partida. Talvez nem todos os modernos, mas, principalmente, os racionalistas - e Descartes foram, certamente, os campeões dessa tendência filosófica.
Na verdade, o tema a respeito da substância começa bem antes de Aristóteles. A regra parmenidiana de buscar o caminho da verdade, ou seja, o caminho do que é, colocou Platão e Aristóteles cativos de uma consideração peculiar: há explicação filosófica do que se quer explicar quando o objeto em questão se mostra estável e permanente, a despeito de toda mudança ou transformação no mundo. Nessa busca, Aristóteles teorizou sobre a substância. Ele classificou as propriedades das coisas em essenciais e aciden tais, sendo que as primeiras seriam as propriedades permanentes; a substância apareceu nesse contexto, em sua obra, como "essência permanente" ou como a "natureza essencial".
Aristóteles trouxe a discussão para um ponto de vista lógico (e gramatical). Definiu a substância, nesse caso, como o que é sujeito de predicados, e que não pode ser predicado de qualquer outra coisa. Por exemplo: marrom é predicado de um cavalo; pode-se falar, portanto, de cavalo marrom. Então, marrom não é substância, pois pode ser predicado deste cavalo e de outros animais. No entanto, o cavalo individual que recebe o predicado de marrom (e outros predicados) é uma substância, uma vez que ele não pode ser predicado de qualquer outra coisa. Essa definição de Aristóteles deu à substância mais uma característica básica: enquanto o predicado pertence ao sujeito ou está no sujeito, este existe por si só, tem existência independente. No caso do exemplo: o cavalo existe por si, enquanto o marrom tem existência no cavalo ou como algo pertencente ao cavalo.
Descartes, por sua vez, adotou a noção de substância como o que tem existência independente. Substância é o que "pode existir por si". Espinosa também insistiu na característica da independência da substância, e a relacionou com as causas. A substância não pode ser causalmente dependente de qualquer outra coisa, ela é sua própria causa. Leibniz utilizou bem a noção de substância como o que é "sujeito de predicação".
Esses três racionalistas, no entanto, não se diferenciaram pela ênfase em uma ou outra definição de substância, e sim pela quantidade de substâncias. Descartes foi chamado de dualista, ao defender a realidade como constituída de duas substâncias. Espinosa foi monista e Leibniz foi pluralista.
Descartes definiu duas substâncias, o que ocupa espaço é a substância corpórea e o que não ocupa espaço é a substância pensamento. Mas, em termos mais rigorosos, ele não viu duas substâncias, mas três: corpo, pensamento e Deus. Na verdade, segundo Descartes, só Deus deveria ser considerado substância, caso ele fosse levar sua definição ao pé da letra, ou seja, a substância como aquilo que pode existir por si.
Ao dizer isso, Descartes deu a Espinosa a chance de colocar uma cunha no dualismo, não para auxiliá-lo, mas para tentar destruí-lo. A definição estrita de substância, feita por Descartes, era tudo que Espinosa precisava para o seu projeto. Ele utilizou essa definição para o seu monismo. Com uma pequena, mas fundamental modificação, ele definiu a substância como "o que existe por si e é concebido por meio de si". Além disso, Espinosa percebeu que Descartes teve problemas quanto à individualização das substâncias. Afinal, se a substância era definida por sua natureza essencial, como que se poderia pensar na existência de duas ou mais substâncias? Não haveria como distinguir essas substâncias como que separadas umas das outras. Sendo assim, o melhor seria admitir a existência de uma única substância.
Descartes falou em substâncias diferentes, como a substância corpórea a substância imaterial, o pensamento. Mas ele também tinha a ideia de distinguir atributos e modos da substância. Espinosa utilizou essa terminologia, mas na consideração de uma única substância. Para ele, então, a substância única poderia ter o atributo de pensamento e o atributo de corpóreo. Essa sua teoria da substância lhe deu elementos para propor uma solução - não desprovida de grandes controvérsias - ao problema da interação entre o corpóreo e o pensamento, produto do sistema cartesiano.
Na sua definição estrita de substância, Descartes postulou duas substâncias, res extensa e res cogitans. Tomou-as como substâncias independentes. Afirmou a imaterialidade do pensamento, centrando atenção na ideia do "eu" como consciência unitária e transparente a si mesma. Reconheceu várias faculdades mentais, mas nunca como partes da mente e, sim, como atividade de um "eu" sempre presente, individualizado e capaz de existir sem o corpo.
Atualmente, essa teoria não é desconhecida do senso comum. Mas, não era assim no tempo de Descartes. Esse tipo de teoria do mental teve de lutar contra várias forças. A concepção antiga, de Aristóteles, considerava a alma como pneuma, isto é, como algo físico. E a concepção cristã nunca se desligou de um importante eixo de argumentação vindo da ortodoxia da Igreja, defensora da ideia de que a ressurreição seria também a ressurreição do corpo, não só da alma. Assim, de certo modo, até mesmo os cristãos não tinham lá tanta necessidade de falar de uma alma capaz de existir independente do corpo. Ao dar independência à substância pensamento, ou seja, o mental ou, para Descartes, a alma, a teoria cartesiana da mente estava realmente inovando.
Exatamente por ser inovadora em seu tempo, essa teoria tinha de ser bem defendida, e Descartes sabia bem disso. E as dificuldades da teoria não eram poucas. Algumas eram visíveis no seu tempo, outras vieram à tona logo depois. A principal é a que permanece até hoje, para a maior parte dos dualismos metafísicos, e pode ser sintetizada na seguinte interrogação: ainda que o pensamento possa se definir de modo imaterial, como imaginar que o pensamento possa ser independente do corpo, no caso, do cérebro, quando tudo para indicar que certas faculdades não funcionam quando partes do cérebro são lesadas? Lesões cerebrais de fato eliminam certas possibilidades de pensamento.
No entando, Descartes acreditava na existência da distinção entre corpo e mente na medida em que podia conceber seu eu, enquanto puro pensamento, como distinto do seu corpo. Assim, seu critério, em favor da independência do mental e do corporal, veio da ideia de como conceber tal distinção. Ele entendeu que o que é concebível distintamente poderia ser tomado como existindo de modo distinto, pois ainda que não fosse separado, poderia vir a ser - ao menos por Deus; e foi o que ele acrescentou na defesa de sua doutrina.
O raciocínio fica mais fácil de entender da seguinte maneira: uma coisa A é perfeitamente concebida sem uma coisa B, então A é algo que pode existir sem B.Isto é: posso compreender o "eu", como substância pensante, sem ter a necessidade de imaginar esse "eu" como possuindo um corpo, então, o corpo não tem de ser posto como parte essencial de minha natureza. Esse tipo de ideia que, no limite, garante a existência espiritual sem o corpo como possibilidade lógica, esteve na base de boa parte das argumentações de Descartes.
Todavia, essa argumentação não calou os objetores. Uma célebre objeção foi a da comparação com a essência do triângulo, levantada por vários críticos. Pode-se pensar como um possível triângulo retângulo cujo quadrado da hipotenusa não é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é pensado por um ignorante, e é um erro, mas é fácil admitir que pode ser pensado. Pode-se pensar na mente sem o corpo, mas isso pode muito bem nada ser senão um erro. Mas pode ser pensado. Descartes não deu resposta a esse tipo de objeção.
Outro problema de Descartes com a separação entre a mente e o corpo foi o de explicar como se daria a interação entre o físico e o mental. Afinal, no mundo, como ele próprio escreveu, o "homem não é um piloto em seu navio", e sim um todo unido na articulação entre corpo e mente, físico e pensamento. Que algo físico possa interagir com algo físico, é possível de compreender, mas que uma coisa imaterial possa interagir com algo espacial, físico, e vice-versa, parece difícil de poder ser explicada.
A explicação de Descartes não satisfez ninguém. Ele criou a ideia da glândula pineal, que estaria situada na base do cérebro, mas com orifícios extremamente pequenos que, então, seriam sensíveis aos "ventos sutis" que corresponderiam aos "espíritos animais" do sangue. Tais "ventos sutis" viriam do corpo e passariam pela tal glândula, interagindo com o não material que, enfim, teria uma espécie de sede nessa glândula; esses "espíritos animais" voltariam para o corpo, pela vibração da glândula, que os dirigiria de modo diverso, em várias direções.
Essa questão da interação corpo-mente preocupou uma série de pensadores modernos. Espinosa deu uma resposta engenhosa que, em certa medida, se aproxima um pouco do que atualmente os filósofos contemporâneos chamam de funcionalismo.
Para Espinosa, a mente e o corpo são uma mesma substância. Essa substância única é concebida sob o atributo de pensamento e de extensão, respectivamente. A mente é um modo finito da substância infinita concebida enquanto pensamento; o corpo é um modo finito da substância infinita concebida enquanto extensão. Mente e corpo são uma só coisa, mas, no campo em que nos situamos para concebê-los eles se apresentam em sistemas que não podem ser reduzidos um ao outro. Não há como explicar um processo físico como mental e vice-versa.
Os exemplos de Espinosa levaram alguns filósofos a acreditar que poderiam torná-lo segundo fórmulas da teoria funcionalista da mente, vigente contemporaneamente. A analogia que essa teoria utiliza para falar da interação corpo e mente é bem útil. Os estados mentais são assumidos como compondo o software enquanto os estados corporais (cerebrais) são vistos como o hardware. Neurofisiologistas dão descrições da atividade corporal, ou seja, cerebral, na linguagem que fala de componentes do hardware; enquanto psicólogos, por exemplo, podem dar descrições das atividades mentais em termos de um sistema de entradas e saídas de informação, isto é, podem descrever o mental utilizando a linguagem que fala na atividade do software.
Essa comparação entre a teoria da mente de Espinosa e as teorias funcionalistas contemporâneas mostra a força da sua filosofia. Mas, é claro, ainda que tenha chegado a resultados quase opostos aos de Descartes, seu ponto de partida cartesiano foi fundamental. Ecoa em todos os filósofos modernos o som do sistema cartesiano, o modo como ele redirecionou a metafísica. A filosofia moderna se fez em favor ou contra Descartes.
A preocupação de Descartes em não ficar com os pés atolados nas dúvidas que, para Montaigne e outros renascentistas, faziam parte da vida normal, o colocou, é certo, como um filósofo distanciado da prática típica do Renascimento. Todavia, nem tudo do Renascimento lhe foi estranho. O humanismo, um programa tipicamente renascentista, foi acolhido por Descartes. Em termos filosóficos, Descartes tinha um desejo inquebrantável de elaborar melhor um novo retrato do ser humano.
Todavia, sua teoria metafísica enfrentou grandes dificuldades em estabelecer uma boa parceria com a montagem de uma antropologia, uma descrição do homem coeso.
Descartes ainda não havia falecido quando Locke nasceu. A imagem de homem que os séculos seguintes desenvolveram se deve a um conjunto de informações que foram um composto do que veio do sistema cartesiano e das críticas da filosofia de Locke. Os enciclopedistas franceses do século XVIII foram os grandes responsáveis por este composto. Escreveram os verbetes da Enciclopédia segundo um retrato de homem em que incorporaram as descrições cartesianas à noção de Locke de identidade. Eles acreditaram que poderiam dar melhor sentido à frase cartesiana "o homem não é um piloto em seu navio" trabalhando algumas noções cartesianas temperadas com as descrições de Locke.
A noção de John Locke (1632-1704) de identidade pertence ao seu livro Um ensaio sobre o entendimento humano, acrescentada em uma segunda edição. Locke diz que se faz necessário distinguir a ideia de homem da ideia de pessoa, ainda que na linguagem comum elas apareçam intercambiáveis. Ele conta que a identidade de homem é nada além da participação de partículas transitórias de matéria na continuidade de uma mesma vida, na "sequência vitalmente unificada de um mesmo corpo organizado" - nisto, o homem nada seria diferente dos outros animais. Todavia, a identidade da pessoa é outra coisa. Ela não é a da vida em um corpo. Está assentada na ideia da autoconsciência. Assim, sobre a identidade do homem, Locke não discorda completamente de Descartes quando este fala da matéria. Discorda quanto à identidade da pessoa, que envolve a noção de mente. Nesse caso, há sim uma alteração da compreensão do que pode ser a individualidade humana.
Diferentemente de Descartes, em seu Tratado do entendimento humano, Locke não evoca nenhuma substância não física para que se possa falar em mente e pensamento. Para Descartes, o pensamento é o que não ocupa espaço e está para a mente como a extensão está para o corpo. Para Locke, o pensamento está para a mente como o movimento está para o corpo. Descartes não pode ver a mente existindo sem sua atividade de pensamento, pois ele qualifica uma série de atividades como pensamento (imaginação, sensação, desejo, reflexão etc.). Locke não vê o pensamento como elemento fundamental da mente, pois fala da mente como sendo a alma em movimento. Do mesmo modo que um corpo pode ou não estar se movimentando, a mente pode ou não estar pensando. Locke diz desconhecer a exata constituição da mente, e insiste que não há ideia sobre se ela pode ou não existir sem um aparato físico de sustentação.
Da perspectiva de Descartes, pode-se tirar que a identidade pessoal consiste na continuidade de uma substância imaterial, a mente ou a alma. Com Locke, a questão da identidade é antes sobre o que faz uma pessoa ser ela mesma do que a questão sobre a indicação da mesma substância sempre pensante (o Cogito). A identidade de uma pessoa, diferentemente, não depende da substância imaterial, ou seja, da mente ou alma. Locke insiste que ser uma mesma consciência é que faz um homem ser ele para ele próprio, e sua identidade pessoal depende somente disso.
Locke fala em continuidade da consciência, não de substância. Mas nunca disse que não se poderia transferir essa consciência de substância material para substância material. Disse apenas que nada se sabia sobre isso. Nesse caso, para aqueles que haviam começado a imaginar a perspectiva de Descartes como elemento colaborador com a ideia de imortalidade da alma, a visão lockeana pouco ajudava. Mas, no século XVIII, as correntes antirreligiosas não foram poucas. Afinal, o século XVIII ficou na história como o século do Iluminismo, e neste campo, uma agulhada na tradição e na visão religiosa não era vista com maus olhos pelos principais pensadores. Locke foi acolhido ao lado de Descartes.
Descartes falou em um eu que, aspirando à universalidade, ganhou espaço metafísico, depois, na linha da filosofia alemã, principalmente a partir de Kant. Diferente da tradição alemã e francesa, os britânicos tentaram trabalhar com uma noção de sujeito menos inflacionada metafisicamente. Os britânicos tentaram manter o eu como indivíduo humano. Locke caminhou nesse sentido, procurando antes fazer um retrato das funções da mente do que propriamente dos apetrechos do sujeito metafísico. Esse modo de trabalhar com a teoria do conhecimento e com a psicologia não estava distante do projeto - tipicamente britânico - de uma doutrina política denominada liberalismo.
Ao lado de Hobbes, Locke partilhou da ideia do jusnaturalismo, ou seja, a doutrina dos direitos naturais. Como Hobbes, ele partiu de um hipotético estado de natureza para, então, mostrar a transição para a vida em sociedade, que ele chamou de estado civil. Nessa mesma linha, também ele advogou essa passagem entre ambos os estados por meio de um contrato.
De maneira mais exemplificada do que Hobbes, nos escritos de Locke o estado de natureza ganha uma referência: trata-se do estado primitivo, como o dos povos americanos de sua época. Nesse caso, uma tal situação está longe de ser a descrita por Hobbes em seu equivalente estado de natureza. O homem primitivo ou natural lockeano não está pressionado pelo medo, nem se move como lobo de seu semelhante. Também diferente de Hobbes, que jamais pensou em falar em propriedade no estado de natureza, Locke diz que ela não só existe neste estado, mas é legítima, uma vez que fundado no trabalho sobre uma terra que, vinda de Deus, em princípio era de todos. Após o contrato, a propriedade se mantém como direito natural, uma vez anterior à sociedade civil. Na nova situação, na sociedade civil, então, todas as leis devem caminhar para a proteção daquilo que se fez, no estado de natureza, partir do trabalho, ou seja, da propriedade. A proteção da propriedade é uma face da moeda da vida humana, em que a outra face corresponde à proteção das liberdades individuais.
O contrato social hobbesiano é um pacto entre os homens que, assim fazendo, se submetem a um terceiro, o soberano, para que este garanta a paz - inclusive com o monopólio do uso da força, ou seja, a legitimidade de possuir exército, polícia etc. O contrato social de Locke, por sua vez, não é um pacto de submissão e, sim, um pacto de consentimento. Tudo que se quer, neste caso, não é a alteração do que se tinha no estado de natureza, mas a garantia do que havia sido conquistado nesse estado, a propriedade, base da liberdade. As leis e o governo na sociedade civil não se fazem para alterar a vida do homem natural, mas para garantir direitos adquiridos. Esses direitos são vistos como autenticamente naturais: direito à vida, à liberdade e aos bens. Tudo isso, no estado civil, deve ficar sob proteção da lei. Assim, na própria vida sob estado civil, a ideia de consenso, presente no contrato, continua a vigorar. Por isso, as formas de governo nessas condições são, em geral, variações da capa que o liberalismo pode colocar sobre monarquias constitucionais ou repúblicas democráticas, sempre que ambas preservarem o princípio da representatividade, de modo a não excluir os membros da sociedade das decisões mais importantes.
Também é interessante notar que tanto em Hobbes quanto em Locke, do ponto de vista filosófico, há o direito à rebelião, para o primeiro e à resistência, para o segundo. Nos dois casos, esse direito emerge por causa da possibilidade de o governante não vir a cumprir o contrato segundo o prometido.
Diferentemente de outras épocas, a modernidade se caracterizou por uma preocupação com o método, algo derivado de sua atenção especial com a epistemologia. Foi a partir dos modernos que os historiadores da filosofia começaram a imputar métodos a procedimentos passados. Assim, depois, não foram poucos os que, lendo manuais de história da filosofia, enxergaram métodos em filósofos antigos ou medievais. Mas, a rigor, isso não ocorreu - a ideia de método é tipicamente moderna.
Preocupados antes em explicar o conhecimento, as ilusões e os mecanismos produtores de ilusões do que propriamente trabalhar sobre as questões metafísicas e ontológicas do passado, os modernos perceberam que, para cada explicação que davam do funcionamento do que chamaram de relação sujeito-objeto, expunham uma maneira que seria a própria de todo ser humano conhecer aquilo que conhece. Em outras palavras: se o conhecimento se dá de uma determinada maneira, que é a mostrada pelo filósofo em questão, então ele se dá assim em todos os homens, ora, então como que o filósofo fez tal descoberta? Não poderiam os outros homens também terem feito tal descoberta? Uma tal pergunta exigiu do filósofo uma tarefa: mostrar como que ele desenvolveu sua teoria, como que ele conseguiu não ser vítima das ilusões que, como ele próprio diz, dominam a própria estrutura da realidade e englobam todos os outros. Como escapar dos ídolos, como bem disse Bacon.
Racionalistas e empiristas receberam tais nomes exatamente na medida que deram explicações diferentes a respeito do conhecimento. Assim, ao mesmo tempo, tiveram de mostrar de modo detalhado os seus procedimentos para chegar onde chegaram. Descartes não acreditava que o método de conhecimento para determinados objetos fosse um, enquanto que para outros objetos se devesse lançar mão de métodos diferentes. Os objetos e, inclusive, os objetos filosóficos - como o próprio conhecimento e o sujeito - deveriam ser investigados a partir de um único método. No caso, o método matemático ou geométrico. Em oposição direta a Descartes, Blaise Pascal (16231662), tão grande matemático e cientista quanto Descartes - e mais fervorosamente religioso que este - desafiou a ideia de um método centrado na razão, na dedução racional.
Descartes pediu uma única e primeira verdade e, a partir dela, tiraria outros segundo silogismos corretos. Eis aí o espírito moderno, em sua apologia da dedução. Os empiristas, diferentemente, deram crédito para a indução. O bom método, para eles, seria aquele que, a partir do exame de diversos elementos empíricos, pudesse dar um salto inferencial para um ideia ou tese ou lei. Pascal não se alinhou nem aos cartesianos nem aos empiristas. Sua ideia contrastou como esses dois procedimentos que implicavam em passos e, também, em certa ideia da adoção do método único. Basicamente, contra um médoto único universal, advogou uma diversidade metodológica, e contra um procedimento exclusivamente baseado na trabalho racional para se alcançar a verdade, apontou para o coração.
Pascal entendia que para cada problema e cada objeto haveria um método mais adequado, não raro construído a partir do próprio problema. Em relação ao seu apelo ao coração, não se tratava de um procedimento baseado nos sentimentos propriamente ditos, mas na evidência da intuição - há coisas que nos são evidentes e não temos como prová-las a partir de procedimentos racionais em um sentido estrito, isto é, segundo a dedução ou a indução. Uma boa parte das noções da geometria são intuitivas, não há como demonstrá-las. A metáfora do coração foi usada por Pascal sem qualquer sentido místico, religioso ou mesmo romântico. Usou essa expressão para lembrar que há conhecimentos que não são dados passo a passo, mas de uma só vez, como em uma percepção de conjunto, antes afeita à evidência intuitiva do que ao procedimento racional típico. Contra o racionalismo daqueles que, como ensinou Descartes, atuavam segundo o espírito da geometria, ele advogou o que batizou como esprit de finesse. Haveria uma certa finesse - uma capacidade para a sutiliza - no olhar daquele que, quanto à verdade, não vai passo a passo, não caminha de demonstração em demonstração, mas a apreende de um só golpe, como faz o coração.
Pascal entendia que o espírito do geômetra e o esprit de finesse deveriam se harmonizar no verdadeiro homem de ciência. Evoluindo nesse tema, ele também expôs uma outra divisão, composta pelo espírito de justeza e o espírito geométrico. O segundo seria capaz de articular vários princípios, fazendo conexões amplas, o primeiro seria capaz de ir às causas únicas ou principais de problemas e situações.
No início do século XX, escrevendo sobre história da pedagogia, o sociólogo francês Émile Durkheim enfatizou a diferença entre antigos e modernos, tomando como tema a religião. A preocupação moderna com a individualidade e a subjetividade, não encontrada nos mesmos moldes no mundo antigo, foi vista por Durkheim como fruto das transformações geradas pelo cristianismo.
A religião pagã era objetiva, ou seja, segundo o pensamento pagão, os deuses se comunicavam com os mortais por meio de sinais físicos e eventos naturais e não naturais. O voo de uma pomba, o dito de uma pitonisa ou uma reunião festiva, por exemplo, eram elos entre as divindades e os mortais. As Olimpíadas davam a dimensão clara dessa objetividade. Nos Jogos Olímpicos, os vencedores eram aceitos como tendo cumprido os desejos dos deuses. A frequência aos jogos era um privilégio somente dos homens que, completamente nus, viam de perto as façanhas dos deuses, cujos atletas eram representantes segundo suas habilidades, em geral correspondentemente análogas a dos deuses. Com a entrada do cristianismo, essa relação objetiva entre mortais e deuses foi alterada. Os homens foram paulatinamente ensinados a cultivar a sua alma, a se arrepender de faltas, a rezar em voz baixa, orando diretamente a Jesus-Deus enquanto pai. Séculos de cristianismo se casaram com grandes períodos de decadência das cidades e de cultivo da vida monástica, solitária, abaulando o "interior" de cada homem e de cada mulher no Ocidente. Assim, quando a política liberal passou a conquistar os intelectuais, a partir do final do Renascimento, o cristianismo havia dado tudo de si para que cada homem e cada mulher, ainda que humildes, se achassem importantes enquanto pessoas cuja alma podia entrar em contato com Deus. Lutero empurrou essa disposição original do cristia nismo mais adiante, uma vez que re-liberou o contato entre DeusPai e seus filhos, na medida em que desafiou a autoridade papal, fazendo cada homem um leitor individual da Bíblia.
Essa história contada por Durkheim, a partir do estilo da sociologia nascente, também havia sido exposta, de forma filosófica e bem abstrata, por G.W.F.Hegel (1770-1831), que a tomou de maneira positiva. Uma história semelhante foi contada, também, por Friedrich W.Nietzsche (1844-1900), mas com sinal trocado, isto é, avaliada negativamente. Em meados do século XX, tendo lido muito bem Hegel e Nietzsche, o filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) formulou sua própria visão geral da história da filosofia, em especial da filosofia moderna, como a época de reinado dos "processos de subjetivação". Deixando de lado as conclusões que ele tirou dessa sua visão geral da filosofia moderna, não é difícil encontrar concordância com vários outros filósofos a respeito do núcleo central de sua formulação. De um modo hiper sintético: enquanto os antigos elegeram o que é o real? como a pergunta própria da filosofia, os modernos preferiram o que é o conhecimento (do real)? como a pergunta efetivamente válida. Isto é, a pergunta da filosofia passou a considerar uma instância entre o conhecimento e o conhecido. Essa instância foi denominada de subjetividade. Heidegger viu a filosofia moderna como aquela filosofia que subjugou a discussão sobre as substâncias e o real à discussão sobre a mente e o saber do real, isto é, atrelou a metafísica à epistemologia.
A filosofia, é claro, sempre se preocupou com os mecanismos pelos quais se pode dizer que o chamado senso comum agarra antes a ilusão do que o real. Os modernos inovaram neste campo tornando real uma representação produzida por uma instância especial, o campo subjetivo. Uma vez que, na esteira de séculos de cristianismo, os modernos aceitaram que a ilusão e o erro são mais fáceis de imperar do que a verdade e o acerto, eles não sentiram dificuldades de acreditar que a melhor explicação sobre a produção dos equívocos intelectuais e morais seria aquela que descrevesse o funcionamento do aparato subjetivo. As investigações sobre o conhecimento se transformaram em pesquisas sobre os mecanismos pelos quais a instância chamada sujeito vinha a produzir ou descobrir o objeto. A própria dualidade sujeito-objeto, tão comum nos livros de epistemologia do século XX, nasceu a partir do século XVIII e XIX, no contexto dessa virada da filosofia em favor dos estudos em epistemologia.
A tarefa dos filósofos passou a ser, então, em grande parte, a de criadores de modelos de sujeito ou de subjetividade. Cada um deveria explicar como ocorre o conhecimento e, enfim, como as ilusões e erros são produzidos. Para tal, tornou-se uma prática filosófica mostrar os detalhes da relação sujeito-objeto - uma dualidade cujo aparecimento caracteriza os tempos modernos - e, principalmente, o funcionamento da maquinaria interna ao sujeito.
Santo Agostinho (354-430) e, é claro, René Descartes (15961650), fizeram estudos que podem ser considerados como passos importantes na história das teorias da subjetividade ou mesmo na história das teorias do eu. Todavia, a teoria do conhecimento, propriamente moderna, nasceu com David Hume (1711-1776) e Immanuel Kant (1724-1804), mas não sem a colaboração do desajustado Jean Jacques Rousseau (1712-1778).
Não raro, fala-se em Descartes como o criador da filosofia do sujeito ou, como na denominação de Heidegger, a metafísica da subjetividade. Todavia, talvez Descartes e Agostinho devessem ser considerados avós da filosofia do sujeito, deixando a paternidade para Rousseau e Kant. O primeiro se preocupou com o eu a partir da individualidade e dos sentimentos. O segundo criou um eu mais distanciado do ego individual, colocando a subjetividade em um plano universal e necessário, que veio a ser conhecido como campo transcendental.
Diferentemente de todos os outros períodos da história da filosofia, nesta parte os estudantes realmente podem, ainda que já com um curso de estudos bem adiantado, querer desistir. Em geral, o problema que enfrentam é que são usuários de vocabulários e terminologias em que a noção de subjetividade já é a noção romântica ou já se apresenta "psicologizada". Ou seja, a terminologia de Rousseau, ainda que mitigada, tornou-se mais popular que a de Kant. Assim, os estudantes entendem o que é subjetivo como o que é íntimo. Pensam no eu não como instância filosófica, mas segundo a visão da ciência popularizada, ou seja, o eu é visto única e exclusivamente como identidade individual. Custam para compreender - se é que conseguem - que essa noção romântica e psicologizada do ego, corrente na linguagem atual, é um ponto de chegada, já na transição da filosofia moderna para a contemporânea, e que não é com ela que os filósofos - especialmente os kantianos e neokantianos - trabalham nos séculos XVIII e XIX, nem mesmo os que quiseram discutir filosofia a partir de um ponto de vista empírico.
Nesse caso, o melhor é seguir o conselho de Aristóteles a Alexandre: não há atalho real para a filosofia. Se isso fez Alexandre se afastar de vez da filosofia, espera-se que não ocorra o mesmo com o estudante atual que, enfim, não tem toda a Europa para conquistar. Sabe-se que é necessário amassar o barro, ir aos textos, voltar aos livros de história da filosofia e, enfim, deixar a poeira assentar. Deve-se perceber, quanto a isso, que na filosofia moderna os estilos de reflexão de grupos diferentes se fazem sentir de um modo bastante decisivo. O tempo é, aqui, o remédio ideal, pois é ele que pode tornar o estudante familiarizado com a terminologia variada dos filósofos modernos, algo que, em certo sentido, não tem correspondente na filosofia medieval e antiga.
Aliás, há uma velha historieta sobre a questão das diferenças de estilo na filosofia moderna, publicada em vários lugares desde o início do século XX. Conta-se que um francês, um inglês e um alemão foram encarregados de um estudo sobre o camelo. Assim, o francês foi ao zoológico, entrevistou o guarda, jogou comida para o camelo, cutucou o animal com seu guarda-chuva e, uma vez em casa, mandou para o jornal um artigo curto, mas repleto de afirmações picantes e espirituosas sobre o camelo. O inglês foi até o Oriente, instalou-se confortavelmente no deserto com inúmeros instrumentos de pesquisa e vários serviçais. Depois de três anos trouxe para o seu editor um livro grosso, cheio de informações factuais sobre o camelo que, embora não tivessem nenhuma ordem ou conclusão, era um volume de grande valor documental. Por sua vez, o alemão, com alto desprezo pela frivolidade do francês e a falta de concatenação dos conceitos do britânico, não foi a lugar algum. Trancou-se no seu escritório e passou a redigir uma obra, prevista para doze volumes, com o título: A Ideia de camelo deduzida da concepção do Eu.
Talvez o aluno não compreenda essa anedota no início, mas ele tem de, ao final do estudo da modernidade, saber rir dela em tudo que ela pode fornecer de bom humor - e de realidade!
Os intelectuais do século XVIII tinham um consenso sobre sua época, eles viam o seu século como o século da filosofia ou século da razão. Britânicos e franceses escreveram intensamente naquela época. Os primeiros haviam feito sua revolução burguesa no século anterior, e os franceses, como é sabido, no final daquele século. Junto disso, ocorreu a Revolução Americana (1776), isto é, a independência americana. A Alemanha se manteve, no entanto, ainda dividida e incapaz de transformar suas estruturas políticas no sentido moderno e burguês ou, em termos filosóficos, no sentido do ideário liberal e iluminista. No entanto, foi exatamente ali que surgiu o filósofo iluminista par excellence: Immanuel Kant (1724-1804).
Professor metódico, pontual, interessado nas novidades políticas e científicas de sua época, eternamente solteiro e fiel a Frederico, seu príncipe na cidade de Kõnigsberg, Kant sabia perfeitamente da grandiosidade de seu projeto intelectual. Desde sempre se viu como alguém que iria colocar um marco na filosofia, uma virada de mesa, algo tão importante quanto o que fez o próprio criador do gênero literário chamado filosofia, Platão.
A partir de um determinado momento, Kant tomou-se como o filósofo que iria promover uma síntese entre racionalismo e empirismo. Isso realmente ocorreu, e a história da filosofia, após Kant, teve de ser escrita de um novo modo. Os tempos posteriores tiveram de levar em consideração o empirismo e o racionalismo como correntes bem demarcadas, exatamente na medida em que Kant as discriminou para, então, propor a unificação.
Como o próprio Kant contou, um fato importante de sua vida intelectual foi seu encontro com a obra de Hume. Racionalista extremado, Kant disse que essa sua postura ficou profundamente abalada ao se deparar com a crítica de Hume à metafísica, fazendoo acordar do que ele mesmo chamou de "o sono dogmático". Todavia, o que Kant não contou de modo tão enfático, é que Hume causou impacto, mas não devoção. O seu livro preferido, para o deleite noturno cotidiano, era o de um filósofo que, quase ao final da vida, foi hóspede de Hume, o genebrino Jean Jacques Rousseau. O livro de cabeceira nada era senão O Emílio ou Da Educação.
Foi da leitura de Rousseau que Kant tirou ideias para ir além de uma exata síntese entre empirismo e racionalismo. O proto-romantismo de Rousseau tornou o professor de Kõnigsberg mais atento às questões morais e, principalmente, aos contornos do eu. Rousseau o empurrou para a aventura de construção filosófica da subjetividade de um modo que até então ninguém havia imaginado.
Hume e Rousseau forneceram a Kant os elementos que ele precisava para falar, respectivamente, do conhecimento e da moral, daquilo que Aristóteles já havia dividido em filosofia teórica e filosofia prática. O que Hume e Rousseau ensinaram a Kant sobre o filosofar?
Hume e Rousseau não foram professores de filosofia. Hume não conseguiu uma cátedra, e se envolveu com a diplomacia. Rousseau foi um errante que, enfim, ao ser hospedado pelo segundo, só deu trabalho ao anfitrião, dado seu comportamento paranoico. Talvez por nenhum dos dois assumirem a filosofia como um ganha-pão, tiveram a audácia de pensar filosoficamente contra a filosofia ou, ao menos, contra o tipo de filosofia até então vigente. Hume quis dar um golpe certeiro no racionalismo, atingindo a cabeça da metafísica. Rousseau também desejou estocar o racionalismo, chamando a atenção para uma instância que seria anterior à razão, ao coração, ou seja, os sentimentos.
Hume acompanhou a discussão de empiristas e racionalistas a respeito dos problemas céticos, como eles haviam sido repostos a partir do Renascimento. Ele buscou soluções para vários impasses dessas duas correntes diante dos fracassos que haviam colhido, mas, ao final da sua jornada, firmou posição contra a pretensão da metafísica e, portanto, da própria filosofia até então. Assumiu que um conhecimento do tipo que a metafísica pregava que existia - formulado a partir da razão, sem o alimento do mundo empírico - não seria jamais possível. Assim, não teve pudor em escrever que nada seria perdido se as bibliotecas fossem, na sua maioria, queimadas. Elas estariam impregnadas de uma investigação que nunca poderia ir além da ilusão. Rousseau, por sua vez, fez algo semelhante em relação à cultura como um todo. Qualificou a cultura e, portanto, também a filosofia até então, como elemento de mera corrupção, uma vez que altamente artificial, isto é, não natural. Sugeriu o cultivo da natureza em oposição ao que seria a ditadura da civilização e os descaminhos da alienação produzida pela cultura.
Talvez essa rebeldia contra a filosofia instituída tenha sido o elemento comum que se fez de elo entre esses dois homens de temperamentos tão diferentes. Rousseau era um escritor brilhante já em seu tempo, reverenciado e muito lido. Seus livros vendiam muito bem. Por isso mesmo, teve de sair de Paris, quando começou a ser molestado. Afinal, de um lado agredia o pensamento conservador com seu claro apego à criatividade e imaginação, que deveriam se afastar de qualquer dogma. Por outro lado, ridicularizava o cientificismo inerente ao Iluminismo, desposado pela maioria dos filósofos da época.
Hume o acolheu, ainda que a maioria dos enciclopedistas franceses tivesse insistido que ele estava apenas levando uma cobra para a sua própria casa. Eles podem ter pintado Rousseau de um modo bem pior do que ele era, mas o que contou foi que acertaram. Hume e Rousseau logo se desentenderam, e o que era amor virou ódio. Rousseau acusou Hume de tramar contra ele; na cabeça dele, Hume estaria ligado aos seus inimigos na França. Hume, por sua vez, temia a pena de Rousseau como ninguém, uma vez que, ao contrário dele próprio, o genebrino era realmente alguém procurado como escritor. Talvez para se precaver, procurou investigar a vida financeira de Rousseau. Hume havia conseguido dinheiro e casa para o então amigo viver na Inglaterra como um refugiado. E foi por aí que Hume caminhou, só piorando as coisas entre os dois. Talvez só os dois não tivessem, no início, percebido aquilo que todos avisaram na época: eles iriam realmente brigar. Como isso não ocorreria entre dois gênios, dois radicais?
Alguns intelectuais da época comentaram que as desavenças pessoais entre Rousseau e Hume faziam mais barulho entre a França e a Inglaterra do que uma declaração de guerra entre tais nações. Todavia, isso acabou muito rápido, pois logo ambos faleceram. Quando Kant os utilizou para valer, essas querelas já não tinham mais nenhuma importância.
Kant acreditou que, seguindo Hume e, ao mesmo tempo, pondo-se contra ele, poderia ainda investigar corretamente a possibilidade ou não da metafísica. Kant levou a sério Rousseau, e seguindo os passos do genebrino, transformou a noção rousseauniana de autonomia e, com esse produto novo nas mãos, fez uma revolução na filosofia moral.
Pensa-se que a fotografia é algo do final do século XIX. Produto de máquinas e confeccionada em um impresso nítido em papel a fotografia é, sim, dessa época. Mas o mecanismo da câmera escura que, afinal, é a responsável pela fotografia, era compreendido desde Aristóteles e, antes dele, por chineses e outros povos. Então, por que não se desenvolveu? Faltou tecnologia?
Talvez não tenha sido um problema de carência tecnológica somente. Pode ser que a própria falta da tecnologia tenha sido o resultado da inexistência de um ímpeto em querer ver tudo nítido aqui mesmo neste mundo, e não somente no mundo platônico das formas. A ideia de que o mundo empírico deveria ser levado a sério havia se tornado forte por meio de Francis Bacon (1561-1626) e John Locke (1632-1704), e depois por vários outros empiristas, todos eles bem pouco platônicos. Parecia ser possível - e os progressos da ciência empírica assim indicavam - uma ótima articulação entre o olho do rosto com o olho do espírito, entre física e matemática, de modo a se ter a captação da realidade. Essa realidade, então, deveria poder ser posta à disposição de um sujeito - um sujeito do conhecimento - como representação acurada da realidade. Uma compreensão filosófica desse tipo tinha tudo para estar em consonância com uma época que já usava o princípio da máquina fotográfica para a pintura. Esse foi o brinde que o século XVIII deixou ao século XIX.
O século XVIII foi assumido pelos homens de letras como a Época das Luzes. Tradição, história, regras impostas exteriormente, instituições do passado, religiões não naturais e mais um bom número de coisas foram todas colocadas sob suspeita. Tudo deveria passar pelo crivo de uma visão acurada, um olhar capaz de considerar muito bem o empírico, mas não por oposição à razão, e sim por ser capaz de não se desarticular da razão. Jogar luzes sobre as coisas passou a ser uma metáfora obrigatória, e essas luzes não viriam do sol ou das velas, e sim da capacidade racional do homem. A razão se tornou a produtora do Iluminismo que, enfim, foi tomado quase como que sinônimo de filosofia ou de ciência. A arte espelhou bem esse desejo. A câmera escura, até então algo de pouco valor, ganhou lentes e foi construída de várias maneiras. Seu objetivo era reproduzir na tela as paisagens mais minuciosas, de modo que, proporcionando um esboço bem fidedigno de tudo, pudesse dar aos pintores o único trabalho de jogar tintas e fazer a chamada "arte final", e darem assim aos observadores de seus quadros a realidade como ela é, sem fantasias.
A arte assim produzida teve berço na Itália. Os mestres herdeiros das grandes escolas do Renascimento italiano estavam prontos para tomar a imaginação de uma maneira especial. Essa pintura feita a partir de um layout dado pela projeção da paisagem na tela, por meio da câmera escura, ficou conhecida como veduta. Quando saiam da reprodução da paisagem e, então, tendiam ao fantasioso, ainda assim não descuidavam do detalhamento de base realista. Esta segunda opção dos pintores ficou conhecida como capricio.
O filósofo típico do início da era moderna, ou seja, do período pós-Renascimento, temia a imaginação. O filósofo típico do século XVIII, em contrapartida, fez da modernidade o tempo de um projeto especial para a imaginação. Esta, então, deveria ser antes domada em favor da razão do que calada ou extirpada. Imaginar não poderia indicar devaneio, mas a produção de imagens - imagens detalhadas do mundo. Imagens conduzidas em função da razão, respeitando o material empírico, e não imagens em função da imaginação solta, guiada por si, ou seja, caminhante ao léu. A câmera escura deu essas imagens para os artistas. Um pintor veneziano chamado Giovane Antonio Canaletto (1697-1768) e seu sobrinho Bernardo Bellotto (1720-1780) levaram esse projeto ao extremo. Pintaram os quadros que conquistaram sua época pela riqueza dos detalhes, quase que como a fotografia veio a fazer mais de cem anos depois. Não era propriamente, ainda, o realismo de Jacques-Louis David (1748-1825), o pintor oficial da Revolução Francesa e o protegido de Napoleão. David foi realista no sentido da reprodução da figura humana, mas trabalhava com imagens de ficção. Canaletto e Bellotto não, eles pintavam exatamente sobre o que a câmera escura podia estampar na tela. Eles valorizavam a imaginação como exclusiva produtora de imagens e, assim, conduziam-na sob rédea curta. Canaletto foi para a arte aquilo que Hume foi para a filosofia.
Não à toa, as vedutas de Canaletto fizeram sucesso no mundo britânico, onde viveu durante muito tempo (Figura 3.1). Caneletto não achava que olhos humanos iludiam seus proprietários. O britânico Hume, muito menos. O que iludia era, para ele, a filosofia, ou seja, a metafísica. A câmera escura captava o real e o projetava na tela, para ser pintado. Quando se olha a câmera escura no seu interior, descobre-se que nada há ali de mágica. A captação depende apenas do tamanho do furo da caixa e, enfim, do tempo de exposição desse furo à luz. Nada além do que o próprio mecanismo da retina do olho humano. Nenhuma mágica há no interior da câmera escura. Hume caminhou segundo o espírito da época para pensar na sua descrição do funcionamento da men te. Nada haveria de misterioso no seu interior. Tudo que a mente produz poderia ser descrito por leis, como os raios de luz são descritos por leis geométricas e, assim, surge a câmera escura bem explicada, sem mágica. Mais ainda: tudo que é mental, inclusive as paixões e, então, a moralidade, poderia ser descrito por leis.
Figura 3.1. Canaletto. Retorno de Bucentoro.
Hume não quis ser o Canaletto da filosofia, ele quis ser o Newton da mente. Sua pretensão foi a de explicar a vida mental como um mecanismo, do mesmo modo que Newton, com apenas uma simples equação, explicou todo o movimento na Terra e todo o movimento do Universo. Foi exatamente este o propósito com que Hume produziu seu Tratado do entendimento humano, obra que, infeliz no seu tempo, veio a ser valorizada só posteriormente, por Kant, por conta de despertar-lhe do sono dogmático do racionalismo.
Durante sua vida, Hume foi conhecido antes como historiador do que como filósofo. Foi um historiador detalhista. Esse apego ao detalhe, ao "vedutismo", se fez presente no seu trabalho filosófico de estudo da mente humana. Tanto quanto Canaletto, ele soube não ter medo da imaginação, ainda que a imaginação fosse, neste caso, produção de imagens e não da criatividade romântica. Foi a partir daí que ele tornou o eu mais complexo, e deu a Kant os instrumentos de construção do eu, do sujeito moderno.
Até Kant, o termo sujeito aparecia como uma das acepções aristotélicas de substância. Kant insistiu na noção de sujeito de predicação, e associou isso ao eu. Elaborou uma espécie de psicologia filosófica; tinha material para tal. Esse material veio da longa discussão entre racionalistas e empiristas. Mas, a maior parte, efetivamente, era de Hume. A psicologia deste impressionou profundamente o rousseauniano Kant.
A investigação de Hume a respeito do eu emergiu em conexão com sua doutrina cética. A proliferação da literatura cética vinda do Renascimento trouxe à baila as controvérsias do mundo greco-romano, as divergências entre o ceticismo de Pirro e o dos herdeiros da Academia de Platão. Foi isso que Montaigne desenvolveu, em seu estilo próprio, no Renascimento. Foi exatamente esse tipo de discussão que correu pelas paragens britânicas, já simpáticas ao assunto desde os tempos de William de Ockham (1287-1347). Hume reescreveu essa discussão cética enriquecendo-a e deixando-a ao gosto da complexidade analítica do século XVIII. Assim fez na medida em que criou para o ceticismo uma sala de argumentação mobiliada com peças do mecanismo mental que mapeou, nominou e buscou explicar.
Hume havia notado que a discussão sobre o eu havia se tornado, "ao menos na Inglaterra dos últimos anos" - como ele mesmo disse -, uma questão de suma importância. Inserindo se nessa corrente inglesa de discussão do eu, Hume se propôs a construir uma espécie de ciência moral, uma explicação científica da conduta humana. Inspirado pela força analítica da física de Newton, ele acreditou que podia realizar algo semelhante no âmbito da psicologia e do que hoje os scholars chamam de filosofia da mente.
Como todo filósofo moderno, Hume fornece uma exposição das atividades mentais segundo um vocabulário próprio. No Tratado da natureza humana e em outros escritos do mesmo campo, cada atividade mental recebe nomes que podem não fazer referência ao que outros filósofos e o senso comum pensam quando utilizam aquelas palavras.
Para Hume, a mente apresenta dois tipos de conteúdo, as impressões e as ideias. As primeiras são nossas sensações, emoções e paixões; as ideias são basicamente imagens, isto é, as imagens enfraquecidas das impressões - eis aí o quanto o vedutismo, o cultivo da imagem como capaz de mostrar o mundo, se fez no clima da época, fonte e receptáculo do movimento cultural do período. Essas "imagens enfraquecidas", então, aparecem para formar o pensamento, as reflexões e a imaginação. A distinção entre impressões e ideias é de grau, não de espécie; a diferença básica é que as primeiras são mais vivas na alma que as ideias. As ideias são divididas em simples e complexas, sendo que as complexas são formadas a partir das primeiras, simples. Todavia, as primeiras surgem como as cópias das impressões.
É possível também que ideias gerem ideias, e que um conjunto de ideias produza impressões; mas isso tendo por base inicial sempre as impressões. Assim, Hume distingue o que são as impressões de sensações e o que são as impressões de reflexão, sendo que estas são as impressões de ideias.
Não há conteúdos inatos no desenho da mente traçado por Hume. Mas, inspirado na teoria da atração gravitacional, como Newton a elaborou, ele imagina poder encontrar algumas regularidades no que chama de forças de atração, que seriam próprias da alma. Isso se dá de um modo especial.
As impressões reaparecem como ideias, se são impressões do momento, e este trabalho é o executado pela imaginação. Claro: se ideias são imagens, o reaparecimento delas, que é o pensamento, é o produto da imaginação. Imaginar e pensar são quase a mesma coisa para Hume. A outra maneira das ideias reaparecerem é quando não são cópias das impressões do momento e, sim, de impressões que já ocorreram. Nesse caso, quem age é a memória. O pensamento também atua a partir das imagens da memória. A maneira que essas ideias são apresentadas a outras ideias, na imaginação e na memória, ocorre em razão da força de atração, que Hume não explica. Aliás, ele acredita que não tem como explicar. É como se fosse um dado que se deve aceitar, algo que compõe o que termina por cair sob o nome de natureza humana. O que ele faz é mostrar o modo como essa disposição de associação se realiza. Ele cria um elenco de três modos: por semelhança entre ideias, por contiguidade no tempo e no espaço e, por fim, por causa e efeito.
Além desse aparato em filosofia da mente ou psicologia, Hume também elabora uma divisão a respeito do trabalho da imaginação. A imaginação pode ser desviante, quando entra para o terreno da fantasia, ou pode ser geradora das tarefas do entendimento, arcando com as relações que, de certo modo, podem ser chamadas de raciocínios. Essas relações são o que é do conteúdo das ideias, que são raciocínios de demonstração, ou relações concernentes às questões de fato, em que surgem os juízos sobre o provável. No primeiro caso, há as relações de semelhança, contrariedade, grau de qualidade e proporções em quantidade ou número. No segundo caso, já há as relações de identidade, tempo e espaço e causação.
A partir dessa filosofia da mente, ou psicologia, Hume elaborou o necessário para seu ataque à metafísica. Apontou suas armas para a noção de substância dos filósofos racionalistas. Desinflacionou a ideia de causa e efeito desses filósofos. Deu uma explicação do eu, ou seja, da identidade, bastante próxima ao que fez, muito depois, a filosofia contemporânea, ao menos em algumas vertentes.
Uma discussão tradicional da metafísica era a da substância1. Hume a tomou e a examinou a partir de sua doutrina da mente. Começou por admitir a existência da ideia de substância. Assumindo isso, e tendo em sua doutrina da vida mental que qualquer ideia é derivada de impressões, eis a sua pergunta: que impressões vêm a ideia de substância? Na sua classificação, há impressões de sensação e impressões de reflexão. Substância, então, ou viria de uma ou de outra. Mas sua tese é a de que a ideia de substância não poderia vir de nenhuma das duas formas de impressão.
Caso a ideia de substância viesse das impressões de sensação, teria de ser um gosto, um cheiro, uma cor ou som etc. Mas quem poderia afirmar que a substância, no sentido que a metafísica indica, é algo desse tipo? Não se afirma que um som, por exemplo, é uma substância. Caso a ideia de substância viesse das impressões de reflexão, não sendo uma sensação, restaria para ela emergir do campo das paixões e emoções. Mas também não se afirma, quando se consulta a metafísica para ver o que ela chama de substância, que se trata de uma paixão ou uma emoção. Quem fala de substância, para Hume, usa tal palavra de uma maneira vazia. Não há propriamente a ideia de substância. Quem fala em substância faz a seguinte operação: articula várias ideias simples por meio da imaginação e, então, associa a isso um nome: substância. Não raro, agrupar qualidades por meio da imaginação e supor que tais qualidades sejam inerentes a algo desconhecido - que recebeu o nome de substância - que é suposto existir à medida que se relaciona com outra coisa (também imaginada) por relações específicas, de contiguidade e causalidade.
Assim, segundo tal forma de exposição, Hume entende que se livra da substância material e espiritual. Mas, e a noção de causalidade, que aparece no contexto dessa atividade da imaginação? Novamente a pergunta humeana se repete, agora aplicada à causalidade: assumindo a existência da ideia de causalidade, de que impressões ela provém?
Quando se afirma que a ideia de causalidade pode vir do que se denomina de causas, há um erro: não há algo comum a tudo que recebe o nome de causa. Por isso, há de se ver que a ideia de causalidade não emerge de uma coisa. Então, pode vir de uma relação entre coisas. O melhor é investigá-la supondo que ela possa se mostrar a partir de uma relação entre objetos? Ora, de todas as relações, Hume vê na necessidade a que mais se associa à de causalidade. Então, analisa também a relação de causa e efeito enquanto ligadas pela suposta necessidade. De onde provém essa ideia? Quando se olha para o carvão em brasa e se conclui que é algo quente, como ocorre isso? A primeira impressão é a da luz do carvão, e então se supõe que há uma relação causal entre a luz e o calor. Como que se chega a acreditar nessa relação causal? Hume insiste que não é pela razão, de modo puro, que se obtém essa crença na relação causal. Pode-se perguntar para a razão a respeito da relação entre a luz do carvão e o calor e, então, ver-se-á que a razão nada sabe dizer sobre isso. Pois, para a razão é perfeitamente concebível e, então, possível, um carvão incandescente ser como algo frio.
Pode-se então admitir que a crença na relação causal entre a luz do carvão e o quente existe em razão de uma atuação conjunta entre razão e experiência? Observam-se várias brasas e elas são notadas como coisas quentes. Eis aí algo obtido por experiência. A partir da experiência pode-se usar da razão e inferir que toda brasa é quente? Sim, contanto que se esteja pressupondo que a natureza é uniforme, isto é, que não é possível, em um momento, encontrar uma brasa fria. Eis aí um novo problema: o que se tem nas mãos para pressupor que a natureza é uniforme?
Hume vê dois tipos de raciocínio: o demonstrativo e o que aponta o provável. Esse tipo de assunção ficou conhecido como forquilha de Hume. O primeiro raciocínio é o utilizado para se obter verdades do âmbito da lógica, da matemática, ou seja, o que é obtido pela razão pura - eis aí o que gera o conhecimento. O que não gera conhecimento é o produto do segundo raciocínio, que é a inferência a partir do provável, estabelecida a partir da ligação entre o observado (luz do carvão) e o não observado (calor de um carvão ainda não mostrado). Esses dois tipos de raciocínios que, segundo Hume, são os únicos que existem, não podem estabelecer a crença de que a natureza é uniforme. O raciocínio demonstrativo, que nada é senão a atividade dedutiva, não pode afirmar a uniformidade da natureza, pois o inverso é perfeitamente concebível. Ninguém diria que é inconcebível uma natureza não uniforme e, então, impossível. O raciocínio que indica o provável, que nada é senão o chamado raciocí nio causal que liga o observado ao não observado, também não pode sustentar a uniformidade da natureza, pois ele próprio tem a uniformidade como um pressuposto. Ter-se-ia aí um impasse: a circularidade no raciocínio, o que o torna pouco útil.
Uma vez que não é a razão que pode mostrar ou garantir a uniformidade da natureza, de onde vem essa nossa assunção? Hume afirma que ela é produto da experiência. Trata-se de uma experiência específica, a da repetição, isto é, do hábito ou costume. A repetição propicia a associação de ideias e, então, a ideia se torna crença. No limite, as crenças são produtos da imaginação. O sol nasce todas as manhãs, e pode-se inferir que ele nascerá amanhã, mas não há qualquer garantia da razão para esse feito. Não há nenhum aval de um trabalho demonstrativo do raciocínio dedutivo. Pode-se utilizar apenas a indução para dizer que o sol também nascerá amanhã. Apesar de guiar a vida cotidiana, o processo indutivo não é outra coisa senão uma crença formada a partir da imaginação e motivada pelo hábito.
Hume está longe de negar a existência da necessidade na relação causal. O que nega é a necessidade como alguma coisa a mais do que uma relação psicológica, então espraiada e imputada ao mundo exterior. Apontando para essa imputação, Hume identifica o que julga o erro dos racionalistas. Os filósofos racionalistas se equivocam não quando conferem importância à necessidade envolvida nas relações investigadas, e sim ao imputá-la às relações causais do mundo exterior. Eis a tese de Hume: a mente se espraia sobre o mundo exterior e os racionalistas não percebem isso. Articulado a essa tese, Hume estabelece o seu ceticismo em relação à existência contínua de objetos, pois o que se pode ter são as impressões sempre fugazes, com as quais se realiza a vida mental, as operações mentais.
O senso comum, diz Hume, aposta na crença de uma existência persistente e distinta do que é percebido por imagens descontínuas que vêm dos sentidos. Admitindo isso como um erro, Hume não vê a consciência filosófica (para ele, a perspectiva da filosofia de Locke) como de posse de algo melhor para oferecer. A filosofia de Locke qualifica o que são impressões como representações do mundo externo. Na conta de Hume isso não pode ser feito, uma vez que há somente percepções, e nunca a observação da relação causal entre as percepções e os objetos externos concebidos pelo que é tomado como sendo as percepções desses objetos.
O ceticismo de Hume, assim adotado, se estende à identidade pessoal, como ela havia sido estudada por Locke e outros. Negando que seja possível estar consciente de um eu idêntico no decorrer do tempo, ele reafirma sua teoria das impressões. Defende que não há impressões de um eu idêntico a si mesmo, permanente, e por isso não é possível ter qualquer ideia de um eu desse modo, no esquema do que seria o eu cartesiano-lockeano. Os humanos nada são senão feixes de percepções diferentes, que ocorrem uma após outra com muita rapidez, mantendo um perpétuo fluxo de impressões.
Outro elemento da vida mental humana, na mesma linha de ataque à metafísica, é a imaginação. Na entrada dos tempos modernos, Descartes explicou o erro psicológico como fruto do atropelo da vontade sobre o entendimento, fazendo este decidir apressadamente, antes de uma melhor ponderação. Mas não só. Descartes não deixou de fustigar a imaginação, como se ela também fosse culpada pelo erro. Própria da infância, a imaginação seria exatamente aquilo que se poria contra a razão desde os primeiros momentos da vida humana. O melhor seria ver a infância passar rapidamente. A filosofia - o modo de atuar antes pela razão do que pela imaginação - deveria superar a história. Cada indivíduo só sairia efetivamente da infância - uma fase negativa para Descartes - ao deixar para trás a imaginação. Muito do cultivo de Descartes aos seus procedimentos racionais nada era senão um treinamento contra a imaginação.
De modo distinto, no século XVIII, principalmente, no Emílio ou Da Educação, Rousseau inverte a seta a respeito da imaginação, avaliando-a positivamente. Hume faz o mesmo nos seus livros sobre o entendimento humano. Não se trata, para ele, de idolatrar a imaginação, o que só ocorre nos românticos do século seguinte ao seu. Mas, em Hume, a imaginação aparece pouco distinta da atividade de pensar, uma vez que é por associação de impressões que há ideias e tudo o que é mais sofisticado no campo mental. Por isso, não se deve entender sua desinflação metafísica, que se refere ao eu e a noção de substância, quando ele explica que ambos são fontes da imaginação, como quem diz que o pensamento é um conjunto de delírios. Na formulação de Hume, o termo imaginação não guarda o sentido pejorativo que atinge, muitas vezes, o senso comum, mesmo hoje, como fruto de resquícios cartesianos. Imaginar não é ter sonhos, é pensar. Imaginar é associar imagens ou, falando mais amplamente, percepções. Isso é o pensamento e é o que está a meio caminho da possibilidade de raciocinar. Tanto o erro quanto o acerto podem ser imputados à imaginação.
O pensamento erra ou, dizendo de modo técnico, a imaginação ultrapassa seus limites. O erro ocorre quando há excessivos elementos entre uma imagem e outra. A imaginação ou o pensamento é um fluxo de impressões, mas que se passa de tal modo que, não raro, dá margem para que se possa falar na continuidade daquilo que é descontínuo e fugaz. Essa falsa continuidade gera a noção de "algo permanente" - a substância. Além disso, todas as impressões ditas internas, também sendo agrupadas dessa mesma forma, gerariam a substância enquanto um eu. Eis aí que, sem mais, passa-se a atribuir ao eu uma estabilidade substancial, que dá apoio para a metafísica - nesse caso, sim, a imaginação cria a ilusão. A metafísica dos objetos externos e do eu é uma ilusão, na conta dessa formulação de Hume.
Mas não só a imaginação pode fazer todo o serviço em favor da tese da identidade do eu. Sua colaboradora permanente é a memória. Esta, por sua vez, recoloca no teatro mental, novamente, o fluxo das impressões que já ocorreram. Então, a associação de impressões, pela imaginação, funciona no sentido de alinhavar impressões semelhantes e dar sequência causal a tais impressões, criando fios condutores. Isso é denominado de eu. A tendência em se falar de um si-mesmo, um elemento de identidade, deveria ser antes uma questão capaz de ser vista pela análise gramatical - que mostra como os humanos são empurrados para assumir a existência de um eu nos enunciados - do que pela filosofia. A tese humeana sobre a gramática, Mutatis mutandis, foi reiterada por Nietzsche na transição da filosofia moderna para a contemporânea, no âmbito dos ataques do que seria a metafísica do eu ou metafísica da subjetividade.
Abordando a causalidade, Kant vê a necessidade entre a causa e o evento como aquilo que não poderia ser fornecido pela experiência, e nisso acompanhou Hume. Mas, discordou do filósofo britânico quanto à explicação da ideia de necessidade. Hume afirmou a necessidade da causalidade como algo vindo do campo psicológico, alguma coisa formada pelo hábito. Kant, por sua vez, disse que a causalidade estava no interior do conhecimento e, se não viria da experiência, teria de ser admitida como um conhecimento a priori. A investigação de um campo de conhecimento a priori não se fez presente, em Kant, apenas com relação à causalidade. Estendeu-se de modo amplo e passou a ser algo importante para as questões sobre as possibilidades ou não da existência da metafísica como ciência.
Investigando a metafísica para saber em que medida esse tipo de produto da cultura humana poderia ser válido, Kant tomou como tarefa exatamente esta questão, emergente de sua leitura de Hume: abordar os juízos e ver se é possível algum conhecimento a priori, algum conhecimento que não viesse do campo empírico.
Na Crítica da razão pura e nos Prolegômenos a toda metafísica futura, Kant expõe sua visão sobre os juízos, dividindo-os em analíticos e sintéticos. Os analíticos são aqueles em que o predicado está contido no conceito do sujeito. Nada há informação do predicado que já não esteja dada no conceito de sujeito. A checagem da verdade desse tipo de juízo nada tem a ver com o campo empírico, apenas com a lei da contradição. Kant diz que o enunciado Todos os corpos são extensos é um juízo analítico, uma vez que a noção de corpo já contém a noção de extensão. Os sintéticos são os que em relação a um sujeito afirmam ou negam um predicado que não está incluído no sujeito. Todos os corpos são pesados é um juízo sintético, pois a noção de peso não pertence à ideia de corpo.
Os juízos analíticos independem do mundo empírico para serem considerados verdadeiros. Portanto, são juízos a priori. Os juízos sintéticos dependem do mundo empírico, pois acrescentam à definição do sujeito àquilo que ele não contém por si mesmo, e que é pela consulta ao empírico que a predicação se faz. No entanto, Kant acredita que existe também um campo de juízos sintéticos a priori. Por exemplo, como ele diz, a proposição 7 + 5 = 12 é um juízo sintético a priori. Não se chega a 12 por referência ao empírico e por subsequente generalização. Trata-se única e exclusivamente de uma operação matemática. Deveria ser isso um juízo analítico? No entanto, segundo Kant, não há aí um juízo que obedeça a regra de comportamento das proposições analíticas. Pois a noção de 12 não está contida na noção de união de 7 + 5. A noção de 12 não emerge da análise de 7 + 5. A noção de 7 + 5 não contém a noção de 12. Outro exemplo é o da geometria, com a proposição "A linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos". Ora, o caminho mais curto entre dois pontos não pertence à ideia de reta, pois a noção de reta é qualitativa, não quantitativa.
Há várias tentativas de contestar Kant nessas questões. Todavia, o interessante aqui não é a contestação, mas ver que Kant, ao insistir na existência de um campo de proposições sintéticas a priori, quer acreditar em algo cuja implicação é direta com a metafísica e, então, com a filosofia.
A metafísica é definida por Kant como um conjunto de proposições que deveriam ser todas a priori. Por definição, a metafísica não pode ter proposições que, para serem verdadeiras, buscam o aval no campo empírico. Sendo assim, a metafísica seria o reino das proposições analíticas. Nada forneceria de acréscimo de informações sobre o mundo. Seria um conjunto tautológico. Para que a metafísica viesse a acrescentar informação e conhecimento, teria de possuir juízos sintéticos. No caso, sendo metafísica, teria de ter juízos sintéticos a priori. Desse modo, Kant estabelece que é esse o crivo pelo qual ele quer julgar a filosofia e a metafísica. Ou é possível encontrar os seus objetos nos juízos sintéticos a priori ou então a metafísica nada é senão apenas um conjunto tautológico, um saber vazio. Nesse caso, a filosofia estaria nas mãos das conclusões céticas de Hume. Em outras palavras, a pergunta de Kant nada é senão é possível a metafísica como ciência?
O termo ciência aparece aí não como "ciência moderna", e sim como um campo válido de saber, de conhecimento. Perguntar sobre o conhecimento metafísico é, antes, perguntar sobre o conhecimento em geral. É o caminho de Kant.
O que é o conhecimento? Uma primeira noção de conhecimento pode ser dada a partir da ideia de que a mente se conforma aos objetos. Assim, tudo que o conhecimento comporta é o que se encontra no objeto. Não é uma ideia tola, mas é uma tese que toma a mente como uma instância passiva. Isso dissocia a mente da noção de sujeito, aceito como o agente, o que é ativo.
O modelo da mente como passiva, que, em princípio, pode até se adequar ao que Hume diz em determinados momentos, principalmente quanto às impressões, ao final termina não servindo a Hume. Seguindo Hume em suas conclusões, nos Prolegômenos e na Crítica da razão pura, Kant se depara com o seguinte: não é possível obter do objeto empírico o saber, por exemplo, sobre a universalidade e a necessidade da relação causal. Assim, o saber de que todo evento tem uma causa não pode ser obtido de um objeto do mundo. Da observação de um objeto há que um evento, no qual o objeto está envolvido, tem uma causa, mas não se tira dessa observação o saber de que todo evento tem uma causa. Então, como explicar esse saber que, enfim, se possui? Ou seja, cotidianamente cada indivíduo atua com o conhecimento de que todo o evento tem uma causa, mas de onde emerge esse saber que, enfim, não pode vir do campo empírico? Como explicar esse juízo - todo evento tem uma causa - que não se enquadra no grupo de juízos analíticos e nem no grupo dos juízos sintéticos a posteriori? Ele não é um tipo de juízo sintético a priori? Sim! Explicar a possibilidade desse tipo de juízo é explicar o conhecimento. Ao mesmo tempo, esse é um caminho que, no final, pode armar uma resposta à questão da possibilidade ou não da metafísica.
Segundo o modelo da mente como uma instância passiva, essa questão não mostrava ter solução. Era necessária uma renovação da epistemologia. A renovação de Kant recebeu o nome de Revolução copernicana. Kant disse que a sua tarefa era semelhante àquela executada por Copérnico. Sua Revolução copernicana deveria fazer, no âmbito da abordagem a respeito de uma explicação do conhecimento - a epistemologia -, algo análogo ao que Copérnico fez na astronomia, ou seja, a troca do sistema geocêntrico pelo sistema heliocêntrico.
Fenômenos não explicados em um sistema podem ser explicados em outro, e então, neste, abre-se um campo maior de possibilidades. Em vez de fazer o sol girar em torno da Terra, que é algo que é visto e, no entanto, não explica muitos dos fenômenos, Copérnico preferiu colocar em seu modelo a Terra girando em torno do sol. Apesar disso não ser o visível, é esta a perspectiva que possibilita dar explicação a uma série de fenômenos. Analogamente, Kant acreditou que o melhor seria, na epistemologia, os objetos estarem girando em torno da mente do que o inverso. Com isso, em seu modelo, a mente ganhou uma posição ativa. Ou seja, articulou-se à noção de sujeito que, por sua vez, vinha de uma das acepções de substância, a que dizia que sujeito é aquele que recebe a predicação. Nessa posição, foi mais fácil para Kant explicar como é possível o conhecimento de juízos que não estão no campo empírico e que não emergem dele, mas que não são simplesmente juízos analíticos.
A Revolução copernicana de Kant tem como resultado a própria construção de um sujeito em um sentido moderno. No âmbito teórico, ou seja, cognitivo, trata-se da atividade de mentes que possibilitam o conhecimento. Trata-se, no caso, da criação de um sujeito que não é nenhum indivíduo humano, mas que, se cada homem viesse a agir racionalmente de maneira ótima, este seria o seu melhor modelo. Esse sujeito foi chamado por Kant de sujeito transcendental.
Estando de posse de seu modelo de sujeito, Kant teve de colocá-lo em funcionamento e, então, ver se, com tal modelo, poderia dar conta das questões postas por Hume. No caso, seu modelo teria de lidar melhor do que o de Hume, por exemplo, quanto à causalidade.
Para Kant, como para Hume, todo evento tem uma causa não é um juízo que se possa produzir por generalização do que é observado no campo empírico. Não podemos ficar vendo cada evento e, então, depois de um tempo, inferir com segurança que todo evento tem uma causa. Esse é o tipo de saber pressuposto para observar os objetos, mas que não vem deles. Quando a análise do conhecimento foca o aparato mental cognitivo e não mais o objeto, pode-se dizer que a mente tem uma participação no conhecimento. No caso, diz-se que a mente detém a causalidade nela mesma e, diante de todo objeto, o capta já não como objeto, mas como objeto do conhecimento enquanto se mostra como o que se manifesta integrado na causalidade. Nesse caso, captá-lo assim é, de certo modo, produzi-lo. Fala-se em produção porque ele é visto como objeto do conhecimento à medida que se faz objeto no âmbito da causalidade. Assim, na tese de Kant a causalidade faz parte da estrutura cognitiva, e qualquer objeto que se torna objeto do conhecimento e, então, está para ser conhecido, carrega em si não só o que o mundo empírico lhe dá, mas também a parte correspondente que vem do aparato cognitivo.
Essa atividade da mente a coloca, portanto, no âmbito do que passa a ser o sujeito. A mente pratica a ação - a mente e o sujeito se fundem na nomenclatura de Kant. A Revolução copernicana de Kant é o que realmente cria a noção de subjetividade moderna. O modelo universal dessa subjetividade é a maquinaria da mente transcendental em funcionamento.
Kant elabora um mapa da atividade mental, do sujeito e suas faculdades, para explicar o conhecimento e, enfim, ver se também é possível o conhecimento que atribuímos à metafísica.
A doutrina kantiana apresenta o sujeito transcendental constituído por três campos: sensibilidade, entendimento e razão. O campo da sensibilidade forma o conhecimento imediato, as intuições. Estas são geradas segundo o aparato da sensibilidade que acolhe o que são as provocações do mundo externo. O que é fornecido pela sensibilidade são, basicamente, o espaço e o tempo. No espaço e no tempo, então tornados subjetivos, há a aglutinação do que vêm "de fora" e que cai sob sua ordem; dá-se aí a "intuição sensível'; formase algo como as "imagens", que vão ser absorvidas e transportadas pela imaginação para o segundo campo, o do entendimento.
O entendimento também possui seu próprio aparato, que são as suas categorias. São doze categorias: realidade, negação e limitação são as categorias de qualidade; unidade, pluralidade e totalidade são as categorias de qualidade; necessidade, existência e possibilidade são as categorias de modalidade; substância, causalidade e comunidade são as categorias de relação. O que é formado na sensibilidade - a intuição sensível (ou a imagem) - cai sob o poder das categorias do entendimento, ganhando quantidade, qualidade, modalidade e relação, o que permite que a intuição seja o material para a origem do conceito ou noção.
A razão, por sua vez, detém as ideias; o papel delas é o de fazer as categorias do entendimento não funcionarem além do que é necessário para a produção do conhecimento. Por exemplo, se aquilo que se forma sob a responsabilidade do entendimento é, em determinado caso, o que se requer da categoria de substância (para se manter como algo) ou da categoria de causalidade (para participar de uma sequência causal), é necessário que tais categorias, uma vez aplicadas, sejam guiadas pela razão para não desen cadearem situações de inconsistência lógica. Pois, se uma relação causal é evocada para uma noção qualquer, é bom que a sequência causal instaurada seja alguma coisa que, no sujeito, tenha um fim. Caso ela caminhe no sentido do infinito, certamente gerará algo inconcebível e, então, não possibilitará a cognição. Se a razão possui, por exemplo, a ideia de Deus, então ela possui a ideia de uma causa não causada. Tal ideia é suficiente para estancar a sucessão da causalidade. As ideias da razão - como alma, mundo, liberdade etc. - possuem esse papel nas suas relações com as categorias do entendimento. A razão detém as ideias como ficções necessárias para controlar a maquinaria do entendimento.
Sensibilidade, entendimento e razão são as três grandes instâncias do sujeito do conhecimento, o sujeito epistemológico transcendental. O conhecimento - crença verdadeira bem justificada - ocorre no sujeito - trata-se do fenômeno - sem que com isso se diga que houve qualquer desprezo ao aviso humeano de que o conhecimento tenha um componente empírico, do mundo, que viria das sensações, e que só por ter esse elemento é que poderia ser, efetivamente, chamado de conhecimento.
A frase célebre com a qual Kant expressou o funcionamento do conjunto de entendimento e sensibilidade é a que diz que "as intuições sem conceitos são cegas, enquanto os conceitos sem intuições são vazios". Ou seja, cada provocação do que é em si, aquilo que está efetivamente para além do sujeito, pode dar origem a uma intuição da sensibilidade se cair sob os cuidados dos elementos subjetivos, o espaço e o tempo. Se assim ocorre, a provocação é o suficiente para gerar, na sensibilidade, uma imagem que deverá ser levada (pela faculdade da imaginação) ao entendimento para, nele, sob as categorias dele, transformar-se em seu conteúdo, ser processado e ganhar a forma de uma noção ou conceito. Então, tudo está pronto para que se tenha uma linguagem que expresse enunciados com conteúdo. Esse caminho das intuições é dado pelo próprio entendimento, por suas categorias - ele atrai as intuições e as guia para os conceitos, evitando sua "cegueira". Por sua vez, os conceitos só recebem conteúdos para se desenvolverem e, enfim, serem conceitos de alguma coisa, na posse do material vindo do âmbito fenomênico sensível, as intuições.
Essa forma de construção epistemológica gera dois elementos básicos na terminologia kantiana: fenômeno e número. O primeiro diz respeito ao que se apresenta ao sujeito e que é, ao mesmo tempo, aquilo que ele representa, a partir das intuições sensíveis. Por sua vez, o númeno é o "em si", exterior. Mas Kant também chama as ideias da razão, internas, de númeno. O númeno é o que não se pode conhecer, pois está aquém (ou além) do espaço e do tempo.
Descrevendo a atuação do sujeito transcendental dessa maneira, Kant terminou por estabelecer o que era seu objetivo inicial, o de colocar os limites da razão. Os limites da razão são os limites do aparato de pensamento e cognição pertencentes ao que seria um ser otimamente racional. Kant entendeu que, com isso, o que havia feito era o julgamento da razão em seu próprio tribunal. O resultado deveria poder dar à filosofia o que outros filósofos até então teriam desprezado, o mapeamento dos direitos do poder humano, o poder da razão. Isso foi chamado por ele de filosofia crítica, a filosofia cuja função não seria a do conhecimento propriamente dito, mas de mapeamento das condições pelas quais o conhecimento é possível e a respeito do que ele é possível.
Do ponto de vista teórico (o de possibilidades do conhecimento), Kant declarou os objetos metafísicos - Liberdade, Deus, Imortalidade etc. - como ideias da razão, isto é, ilusões necessárias para o funcionamento do aparato cognitivo. Seriam ideias capazes de fazer a maquinaria do sujeito transcendental funcionar a contento. Mas não seriam elementos capazes de produzir um saber a respeito deles próprios. Foi assim que a metafísica, nas mãos de Kant, se tornou alguma coisa incapaz de se colocar como ciência.
Caso Kant tivesse se limitado a isso, apesar de percorrer caminhos diferentes dos de Hume, suas conclusões levariam para o mesmo lugar: a proibição de esperanças na metafísica como um campo legítimo. Mas, na Crítica da razão prática, ou seja, no livro em que considera a atuação racional no campo ético, Kant se vê obrigado a fazer uma pequena mudança: os elementos metafísicos, no âmbito prático, não se apresentam como ideias da razão, e sim como postulados da razão. Essa aparente pequena diferença muda muita coisa. Com ela, a metafísica volta a respirar, ainda que, então, deslocada para o âmbito moral.
A compreensão dessa alteração de Kant, então, conduz o estudioso de sua filosofia para a distinção entre ideias da razão e postulados da razão. E essa distinção é que se faz presente na chamada "segunda crítica", a Crítica da razão prática. Trata-se do livro de Kant destinado à investigação no campo ético-moral. Nele, Kant rejeita os sistemas éticos que chama de subjetivos e empíricos e, além disso, faz restrições aos sistemas dos racionalistas. Esses sistemas todos não funcionariam corretamente por uma razão: o filósofo moral deve encontrar o que é o bem, mas não como elemento relativo, e sim o bem em si, o que tem valor bom em si mesmo, e esses sistemas rejeitados não teriam conseguido fazer outra coisa senão trabalhar com valores relativos, ou o que é bom como meio e não como fim em si.
Segundo Kant, Montaigne viu a base moral na educação e Epicuro viu tal base na sensação física. Outros encontraram essa base na Constituição Política ou no sentimento. Os estoicos e os racionalistas modernos, segundo ele, apontaram essa base como um objetivo, o da perfeição interior. Kant insistiu em dizer que todas essas bases eram somente meios e não fins. Exatamente por isso, não poderiam ser o piso sólido para fundar a moralidade. Uma moral fundada corretamente teria de ter por base o bem em si, absoluto. Ele encontrou a base moral em seu célebre imperativo categórico: "Eu nunca devo agir de outro modo senão de acordo com aquela máxima que eu posso desejar que viesse a se tornar uma lei universal".
O imperativo categórico é a base da moral de Kant porque não fica ao sabor de idas e vindas empíricas ou exteriores à vontade racional. A vontade racional o segue e, ao mesmo tempo, ela própria o institui. Trata-se então da ideia de autonomia, que vem claramente do seu filósofo de cabeceira: Rousseau. Aqui, Kant abraça o protorromantismo de Rousseau, ampliando ainda mais o seu sujeito. O sujeito moral ou, como a filosofia passou a chamar, a pessoa, emerge do sistema de Kant com um complemento importante da própria noção abrangente de sujeito moderno.
Para Rousseau, o cidadão deve ser um duplo. Ele pode ser visto como tendo desejos particulares, pois além de cidadão é um homem, mas como cidadão ele é, também, aquele que legisla para criar a "vontade coletiva". Neste segundo caso, ele deve obedecer a vontade coletiva de modo legítimo e perfeito à medida que ele é, em suma, seu próprio legislador. Kant transfere essa noção ético-política de Rousseau para o campo moral. A autonomia da vontade racional se exerce na medida em que ela obedece a um preceito interno, seu próprio, de sua lavra, mas que está em função da vida ético-moral, e que não fica ao sabor de mudanças idiossincráticas ou de imposições de agentes exteriores à vontade racional. A razão de cada um, se manifestando como vontade racional, sabe o que deve fazer em cada circunstância, pois cada homem que possa atuar como sujeito, possui essa lei, a do imperativo categórico. Possui porque como ser racional é capaz de buscar evitar a contradição. A contradição é o único elemento que pode ferir tal imperativo: não se pode querer universalizar aquilo que, uma vez universalizado, inviabilizaria o próprio eu que o instituiu ou quis assim fazê-lo. E essa frase, em Kant, ganha estatuto moral na medida em que mais contraria os desejos. Tem valor moral para Kant a decisão que, obedecendo o imperativo, contraria as inclinações humanas.
É claro que Kant, do ponto de vista técnico de seu projeto de "filosofia crítica", também deveria mostrar que, no caso do imperativo categórico, este teria de ser da ordem das proposições a priori. Isso é que garantiria, então, a sua condição de ser um elemento metafísico.
No campo do conhecimento, para Kant, algumas ciências mostram carregar proposições a priori, mas a metafísica não. No caso do campo ético-moral, Kant aposta que a metafísica pode se sair melhor. Isso porque o seu imperativo não é uma tautologia, o que caracterizaria uma proposição meramente analítica, e o imperativo não é informativo, isto é, nada traz do campo empírico, da observação. Sendo assim, ele deve ser da ordem das proposições sintéticas a priori. De fato, o que há na condição de possibilidade desse imperativo é um elemento metafísico - a liberdade.
Não é possível conhecer a liberdade no sentido de saber o que ela é, teoricamente, mas, no caso, aqui, a liberdade aparece como um postulado obrigatório, pois é o que garante as condições de existência e funcionamento do imperativo. Sem a liberdade o imperativo categórico não seria uma opção da vontade racional contra os desejos da inclinação. Mas, quando a razão postula a liberdade, e a supõe funcionando, vê-se que cada pessoa, cada sujeito moral, diante de toda inclinação, opta em seguir a vontade racional e fazer o certo, ou seja, não fazer algo que, uma vez universalizado, não seria sustentado de modo legítimo. Ora, contra qualquer elemento causal, do campo natural-histórico, pode-se colocar a vontade que legisla, como uma instância que obedece a sua própria lei, seguindo o imperativo categórico.
Assim, Kant institui não só uma moral de rigor, que segue a ideia do dever, mas também mostra que a liberdade, que é um elemento metafísico, uma ideia da razão no campo teórico, no campo prático aparece não mais como ideia, mas como um postulado. A liberdade tem de existir, caso contrário, a moral não se coloca. Seria impossível pensar em um ato com valor moral, para Kant, se o sujeito não pudesse, antes de tudo, con trariar instintos, desconsiderar ordens exteriores, ultrapassar condições históricas etc. Ou se é livre ou não se é livre, e se não se é livre, não há qualquer sentido em falar de valor moral. Assim, no campo prático, a ideia de liberdade é um fato da razão. No campo ético-moral, no campo prático, objetos metafísicos reaparecem. As ideias de Deus, Imortalidade da alma etc. também aparecem nesse campo dessa forma, como postulados - fatos da razão.
Assim, com Hume, a metafísica é empurrada pela porta do conhecimento, indo para fora e ficando proibida, e Kant aceita isso. Mas, ele próprio, a traz de volta pela janela da moral. Uma vez no interior da casa filosófica, ela recupera o seu espaço.
Paulo Ghiraldelli Junior
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















