



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Napoleão era um homem baixo e, não tarde, adquiriu uma barriguinha pouco elegante. Também o cabelo não ficou conservado. Quando os estudantes se deparam com a figura de Napoleão e a comparam com o quadro pintado por Jacques-Louis David, ficam indignados. Na tela de David, o imperador parece garbosamente um herói clássico, imponente em seu cavalo branco. A indignação aumenta quando são informados que David foi o "pintor oficial da Revolução Francesa", em seus tempos napoleônicos, exatamente por seu "realismo". Ora, que tipo de realismo seria esse que, antes de tudo, faz a apologia da fantasia? Da indignação passam ao estado de decepção quando leem Hegel, dizendo que Napoleão era "o espírito a cavalo". Teria a filosofia dado posto tão alto ao imperador porque nunca conseguiu olhar para o próprio Napoleão, e sim para o quadro de David .
É possível trazer os alunos de volta à sala, talvez, com algumas explicações. David foi realista, mas seu realismo não era o das técnicas utilizadas por Canaletto para retratar o mundo. Não namorou a protofotografia. O seu real era uma ficção gerada a partir de uma compreensão rigorosa da anatomia dos corpos e de uma especial apreensão do jogo de luz e sombra, que procurava dar às figuras uma capacidade de parecerem reais à medida que pareciam vivas. Com efeito, David tinha como modelo o registro tipicamente apolíneo da cultura greco-romana. Dava vida aos personagens dos quadros do mesmo modo que Napoleão insuflava sua corte de vida, na proporção em que conseguia imitar os imperadores romanos. Essa visão grandiosa do imperador a cavalo casava-se bem com a imagem que Hegel traçou, ainda que, nesse caso, a observação hegeliana visasse falar antes do conceito de espírito em sua filosofia que de Napoleão. O imperador foi visto como o "espírito a cavalo", porque, ele, ao levar pelas armas as reformas da Revolução Francesa para quase toda a Europa, teria realizado aquilo que era o desdobrar do espírito em busca do seu destino, os maiores graus de liberdade. A cada cartório de registros destruído, a velha ordem feudal ia desaparecendo, e emergia daí a ordem burguesa, posta pela força - em favor da liberdade. Esse desdobrar do espírito era, para Hegel, a própria história.
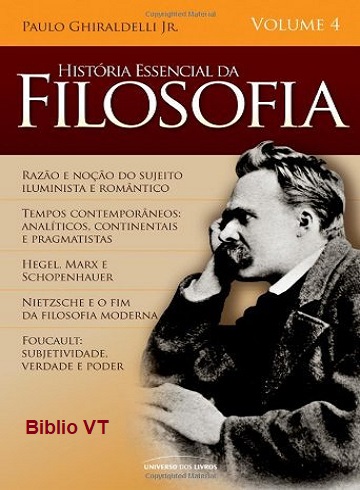
Essa frase de Hegel, que qualifica Napoleão como "o espírito a cavalo", é bastante importante, também, para que se entenda uma diferença básica entre o Iluminismo e o Romantismo, entre a filosofia do sujeito enquanto forjada por Kant e a filosofia do sujeito enquanto reelaborada por Hegel.
Hume põe o eu como sujeito, mas o eu humeano é a mente humana. O sujeito de Kant é um sujeito transcendental e não um indivíduo empírico, ou seja, não é um eu psicológico e sim um eu universal. Todavia, a razão transcendental é uma razão finita. Ela está circunscrita ao sujeito, não se imiscui no mundo por si mesma. O mundo em si lhe é exterior, e não é racional. Ora, com Hegel, nada fica de fora do sujeito, pois não se trata de uma instância finita, e sim do próprio espírito, o que tudo abarca, homem, natureza, mundo, cultura etc. A história nada é senão o espírito se desenvolvendo e chegando a graus de reconhecimento de si mesmo e, portanto, ampliando no universo a liberdade (pois a liberdade é, nesse caso, a consciência dos limites). Assim, um indivíduo empírico, como Napoleão, não é um sujeito, mas sua imagem no cavalo, levando seus exércitos para romper com toda a ordenação feudal da Europa e impondo uma nova ordem, a ordem burguesa, se faz representante de carne e osso do espírito, da história - essa consciência é o sujeito.
Observando isso, não é difícil perceber a diferença básica, no campo mais restrito da Filosofia, entre Iluminismo e Romantismo. Para o primeiro, o sujeito se configura para se associar à noção de mente individual (Hume) ou de consciência transcendental (Kant). Para o segundo, o sujeito se configura enquanto o espírito do mundo que se realiza enquanto história do mundo e, nisso, termina por reconhecer nessa própria história sua vida de sujeito, de espírito atuante. Na linha dos iluministas, o mundo é caótico e é apreendido ou produzido pelo sujeito a partir dessa atividade de organização do mundo, levada a cabo pelo eu. Na linha dos românticos, o mundo e os indivíduos e tudo o mais estão na história e, ao mesmo tempo, fazem parte do desdobrar de um universo que funciona como uma espécie, digamos, de "grande pensamento" - daí o nome de espírito. Por isso, em filósofos como Hegel, a história é logicizada e a lógica é historicizada.
Descartes viu o eu como ponte para a certeza do Cogito. Hume olhou para o eu e disse não encontrar nada de substancial. Rousseau tomou o eu como sede do reino moral, um campo da natureza e de bondade natural. Dessa redescrição do eu moderno, meio iluminista e meio romântico, elaborada por Rousseau, Kant tirou o seu "eu transcendental". Hegel, por sua vez, hipostasiou esse eu protorromântico de Rousseau para poder absorver, então, o que havia aprendido de Kant a respeito do "eu transcendental". Em Hegel, o eu ou o sujeito se tornou o espírito (Geist).
A noção de "espírito" em Hegel é compreendida de um modo melhor quando se pode lembrar que a palavra "espírito" é usada para tempos, época e situações. Por exemplo, quando essa palavra é usada em expressões como "espírito de uma época", ou "espírito de equipe", ou "espírito de um povo", ou "espírito da geração de 1968" e coisas parecidas. A linguagem cotidiana não é diferente da linguagem hegeliana. Usa-se expressões como "aquele povo é bem desenvolvido espiritualmente" ou "aquela época foi um tempo de grande desenvolvimento espiritual". É segundo uma utilização semelhante que Hegel trabalha com a palavra "espírito". Em Hegel, a palavra "espírito" indica a atividade do eu enquanto sujeito, mas de um eu que abraça todo o universo e cujo desdobrar se faz como tudo que há no âmbito da cultura e história, mas também a própria natureza. Trata-se de espírito como "Espírito do mundo" ou mesmo "a alma do mundo". Essa hipostasia do eu é uma marca fundamental do Romantismo.
Hegel e Kant são filósofos modernos. Mas a modernidade de um, não se confunde com a modernidade do outro. O que lhes dá a diferença? Simples: as duas grandes asas do programa cultural e filosófico da modernidade se abrem a partir deles; cada asa é um desses projetos: o Iluminismo e o Romantismo.
A seta histórica da modernidade, desenhada e inaugurada por Bacon, foi assumida por Kant e Hegel magistralmente. Kant e Hegel foram bem conscientes do pertencimento à épocas bastante diferenciadas de tudo que havia ocorrido no passado, mas que se articulavam ao que foi desenhado e previsto por Bacon. Eles desposaram uma arguta visão histórica a respeito do conteúdo cultural de suas épocas; assumiram de modo proposital suas filosofias como a melhor expressão que as caracterizavam. Kant entendia como ninguém que seu tempo era aquele vivido sob o clima do Iluminismo e sabia que sua filosofia expressava isso. Hegel, por sua vez, esteve inserido de modo muito consciente no movimento do Romantismo e não viu sua filosofia senão como a sua completude.
Essa consciência de estarem articulados a movimentos culturais que iriam marcar a história, não fez deles, todavia, meros descritores da modernidade. É claro que a história do Iluminismo e do Romantismo nunca poderia ser contada sem a atuação de Kant e Hegel como os que falaram de modo magistral desses dois movimentos. Mas, para além dessa tarefa, esses dois filósofos, cada um a seu tempo e modo, buscaram mudar o curso da modernidade no que esta se referia à filosofia. Colocaram suas forças no trabalho de redefinir um elemento central dos tempos modernos: o sujeito ou o que, em certo sentido, pode ser também chamado de "eu". Em ambos os casos, pelo lado de Kant ou de Hegel, a subjetividade foi retomada a partir do que entenderam como sendo a razão.
Desde Aristóteles, uma das acepções da noção de substância era a de sujeito. A modernidade privilegiou essa noção em detrimento das outras. Pela forte influência do Humanismo, a modernidade antropologizou a noção de sujeito, dando-lhe as características que lhe são familiares nos dias atuais, fazendo-o, às vezes, quase que sinônimo de indivíduo humano. Essa operação começou de modo efetivo com Descartes, que falou da substância pensante, a res cogitans. Esse passo foi decisivo para fundir sujeito e consciência, uma marca registrada da modernidade. Kant e Hegel tinham clareza de tudo isso. Trabalharam dentro desse registro.
Kant trabalhou com a noção de sujeito, já como consciência, a partir de uma concepção de razão dada pelo Iluminismo. Hegel reconsiderou a noção de sujeito, também já como consciência, levando em conta a razão forjada pelo Romantismo.
De modo bastante genérico, pode-se dizer que o Iluminismo assumiu a razão como um elemento finito, isto é, como uma força de cognição e de avaliação moral interna à mente humana individual (ainda que não empírica, ou seja, não a mente psicológica, e sim um modelo de mente, que poderia ser visto como universal). Na contraposição entre o mundo exterior e o eu, este último seria a parte racional, enquanto que o primeiro seria o caótico. A razão finita deveria organizar o mundo, tanto no sentido de formular o conhecimento deste quanto no sentido de regrar as condutas neste mundo. Isto é, deveria ser razão teórica e prática. Sendo assim, o Iluminismo teria de ser visto como uma força mudancista, cujo interesse principal seria o de colocar o mundo sob o comando da razão humana, diminuindo os caprichos do mundo e da história sobre o homem.
O Romantismo, por sua vez, assumiu a razão como uma força infinita. A razão estaria impregnada na própria estrutura do universo - na natureza e na história -, de um modo metafísico; a mente humana, por sua vez, poderia, conforme o caso, ser uma das manifestações de tal força teleológica. Nesse específico sentido, pode-se dizer, o Romantismo tendeu a ser mais conservador. A cada ação humana contra o meio natural ou social, o Romantismo aparecia para apontar o quanto esse meio, aparentemente imperfeito, tinha suas justificativas racionais para ser do modo que era. Para além de um primeiro olhar, o mundo ou o meio nada seria senão a manifestação da razão, de modo que, visto pela ótica filosófica que apreende o todo - que é a verdade, segundo os românticos, em especial Hegel - seria fácil assumir cada episódio como concatenado a um propósito, a um sentido maior.
A noção de sujeito, como foi dito, veio de uma das acepções da noção de substância, como esta apareceu em Aristóteles. A acepção de substância que tendeu a ser tomada como sujeito foi aquela da substância como "sujeito de predicação". Assim, por essa via, estando a noção de sujeito articulada à razão finita ou à razão infinita, o que se fez notar é que ela passou a ser a noção centralizadora das atenções na modernidade. Ela chamou a atenção à medida que inaugurou um feito primordial da filosofia moderna, o de apostar em uma instância ativa para o filosofar.
Essa foi uma das grandes diferenças entre a modernidade e as outras épocas: a ideia moderna de que há um elemento ativo no âmbito cognitivo e moral, isto é, no âmbito teórico e prático. Isso jamais foi priorizado pelos antigos ou pelos medievais. Por isso, em boa medida, vários filósofos contemporâneos, ao olharem o passado a fim de interpretar a modernidade, assumiram a filosofia moderna como um campo de disputa entre as diferentes construções do reino subjetivo. Cada filósofo moderno trouxe para si a tarefa de gerar o seu modelo de subjetividade ou de apostar em um modelo mais ou menos bem-sucedido no seu tempo. Tratava-se de ver qual filosofia poderia construir a chamada "instância ativa", de modo a melhor descrever as tarefas ligadas à geração do saber e as articuladas às avaliações morais.
O modelo de subjetividade de Kant foi construído com a intenção de colocar a filosofia na trilha da crítica, ou seja, no caminho de responder a pergunta "como que é possível o conhecimento?". Kant entendia que responder a essa pergunta implicava em determinar os limites da razão. Especificamente, a pergunta era a seguinte: até onde a atividade racional do homem pode produzir o conhecimento e quais são os elementos diante dos quais não há mais como continuar a andar? Kant elaborou o sujeito como um palco para o fenômeno e limitou a atuação deste a este campo, deixando intocável o "em si", o que chamou de númenol.
Diferentemente, Hegel viu nessa atividade de Kant o que ele denominou de "o erro do medo de errar". Contra Kant, Hegel afirmou que a filosofia não poderia abrir mão do que seria sua tarefa original, a de ter "o conhecimento real do que verdadeiramente é". A tarefa da filosofia, segundo Hegel, não poderia deixar de ser a de não permitir nada fora do âmbito do espírito, uma vez que tudo é produto do espírito. A filosofia, que é a apreensão do tempo histórico em pensamento, ou a razão, que é o que se desdobra dando o movimento ao mundo, não poderiam estancar em um determinado ponto, a não ser após a apreensão do absoluto pela primeira, o que é a realização deste pela segunda. Não fazendo isso, a filosofia estaria errando e, nesse erro, fazendo emergir uma postura cética descabida. Uma postura cética não poderia ser chamada de filosofia.
Kant não achava que estava dando voz ao ceticismo ao deixar "a coisa em si" intocável. Hegel achava que sim, que nada deveria escapar da atividade espiritual. Hegel jamais concordou com a ideia de um mundo dualista, de fenômeno e de númeno. Não poderia haver algo externo ao espírito. Para Hegel, Kant havia tropeçado no lugar tradicional de tropeço, exatamente na construção do seu sujeito, o sujeito transcendental. Hegel avaliou que o sujeito kantiano carecia de uma imersão na história.
Hegel atuou como quem repreendeu Kant exatamente neste aspecto: teria faltado a Kant a percepção de que a maquinaria do sujeito não funciona como uma fábrica em que a matéria-prima entra, é moldada e, então, sai para a venda já empacotada como conhecimento. A metáfora para o modelo de sujeito não deveria ser a da fábrica, mas a de um organismo que está em um meio ambiente e tenta comer partes desse meio que, enfim, é o próprio organismo; assim agindo, o organismo se modifica à medida que vai devorando essas partes, digerindo-as e recriando a si mesmo e, então, produzindo o próprio meio ambiente. O movimento desse organismo seria o desenvolvimento do espírito, o desdobrar do espírito no mundo, compondo a história.
Todavia, Kant não se via como um incentivador do cético por uma razão simples: o cético não é aquele que cai no paradoxo de lançar a frase "Nada há de verdadeiro", e sim aquele que duvida do conhecimento, pois este precisa apresentar justificativas definitivas para sustentar o enunciado verdadeiro. Ora, Hegel entendia que tal acepção fugia do problema em vez de enfrentálo. O mais correto seria negar determinadamente o cético, simplesmente mostrando o funcionamento correto do sujeito, isto é, o desenvolvimento dinâmico da consciência no processo de produção do conhecimento.
Kant falou em "fenômeno" e "númeno". Hegel anulou o númeno e redescreveu completamente a noção de fenômeno, apontando para o que seria a "fenomenologia". Esta seria o desdobrar do espírito nas fases de produção do saber. Tais fases se dariam no âmbito da consciência - infinita, é claro - e repetiriam, nesse plano, as fases do desenvolvimento do espírito, estampadas na própria história da filosofia.
Hegel escreveu um dos mais importantes livros de filosofia de todos os tempos: A Fenomenologia do espírito. O livro aponta para dois objetivos bem delimitados: primeiro, mostra que a história do mundo tem uma razão, isto é, um sentido, e que este nada é senão "o desenvolvimento da consciência da liberdade"; segundo, expõe o desdobramento das formas de consciência em consonância com o "desenvolvimento da consciência da liberdade" enquanto o eterno objetivo da filosofia, o "conhecimento real do que verdadeiramente é", ou seja, o absoluto.
A palavra "fenômeno" quer dizer o "que aparece", "aquilo que se mostra". Uma fenomenologia é o estudo do que se mostra. No caso, o que se mostra é o próprio espírito em seu desenvolvimento. Como o espírito é, aqui, não o que apreende "de fora" o mundo, mas o autor das ações que criam todo o mundo, ele pode ser chamado de sujeito de uma maneira, diga-se, mais autêntica que a de Kant. Na Fenomenologia, o termo sujeito (ou o eu) é tratado de uma maneira técnica específica, como consciência - e isto deve estar presente para se compreender Hegel.
Para Hegel, o absoluto não é a base do início da filosofia, como o que se apresenta no fundamento chamado "certeza do Cogito", como em Descartes. O absoluto está no final do processo. Uma vez atingido, não haverá nenhuma necessidade de se ir adiante. Não haverá inadequação sentida pelo sujeito e reclamada pelo objeto, e então, o processo se estancará normalmente. Não haverá demanda para se dar mais passos no traçado da fenomenologia. Eis, então, que a consciência (ou o espírito) terá apreendido a si mesma; e isso, é claro, em meio ao desdobrar de seus processos. Este é o objetivo da filosofia que, como a Coruja de Minerva, vem ao final, no cair da tarde, e não no nascer do Sol, no início.
A Fenomenologia do espírito expõe o caminho para o Absoluto. Em seu início, o livro se parece com um tratado de teoria do conhecimento. Há uma análise dos três estágios que seriam responsáveis pela aquisição do conhecimento. Em certo sentido, os estágios lembram um pouco a descrição das grandes faculdades do sujeito transcendental de Kant, mas de uma maneira inovadora. Hegel analisa a "certeza sensível", a "percepção" e, enfim, o "entendimento". Mas esses elementos se apresentam, em Hegel, não de modo estático como em Kant, mas em movimento - pois já não são elementos de um eu finito, delimitado, quase que como uma mente individual apenas tornada um modelo universal, que é o modelo kantiano.
Esses elementos, no modelo hegeliano, são próprios das atividades do espírito a que tudo pertence, e tentam determinar o que se propõem a determinar e, então, alcançam certo sucesso, mas não o êxito completo que esperavam e, assim, surge a necessidade de se reiniciar o processo em um novo patamar, obrigando a consciência a se ampliar e se enriquecer, indo adiante e adiante. A consciência formada pelo movimento que ultrapassa esses três estágios se mostra incapaz de fornecer algo verdadeiro definitivo. Ela não se mostra apta na tarefa de gerar o conhecimento. Então, Hegel sai do campo que, até o momento, parecia ser o de uma descrição epistemológica tradicional (kantiana) e começa a construção da figura da consciência-de-si. A partir daí, Hegel descreve não mais o que, em certo sentido, poderia ser visto como as faculdades cognitivas historicizadas, e sim as principais posições da história da filosofia e da história da cultura que, uma vez apresentadas em graus bastante abstratos, recheiam o desenvolvimento da consciência, isto é, ampliam a própria formação do espírito.
Nesse trajeto, Hegel apresenta o que, em geral, chamamos de "figuras da consciência". Hegel passa pela figura da consciência-de-si desejante. No decorrer, expõe a célebre parte da "dialética entre senhor e escravo". Chega à parte da "consciência infeliz" e, nessa altura, é possível ver como que ele entende a liberdade e, em seguida, como pretende caracterizar o saber absoluto.
Até chegar na parte do entendimento, e inclusive nesta, Hegel faz a consciência mais ou menos repetir o que seria uma forma historicizada e evolutiva daquilo que Kant poderia ver como similar às suas faculdades. Hegel mostra que, caso parasse suas observações no momento em que chega à tarefa do entendimento, não teria o conhecimento do real. Salta do âmbito epistemológico semelhante ao que seria uma abordagem tradicional para o que seria a sua própria e original forma de falar do conhecimento, que é a da formação do espírito. No âmbito do entendimento, há uma espécie de consciência latente, que se explicita, então, na consciência-de-si desejante, que já é um passo a mais, além do entendimento.
A consciência-de-si desejante é aquela forma de consciência que necessita do objeto exterior. Ela não quer admirá-lo passivamente. Ela o deseja e quer apreendê-lo. Essa apreensão requer a transformação do objeto; de algo, até então, estranho, o objeto precisa ser transformando de modo a ser assimilado à consciência. Nessa parte, Hegel deixa claro: a consciência-de-si deseja de fato, e o emergir do seu desejo provoca sua atuação sobre o mundo, transformando-o para fazer dele algo seu. Esse desejo é a base para o processo de reconhecimento da consciência-de-si. Ela precisa de algo que lhe faça oposição, e seu desejo sobre o objeto desejado é um modo de autodistinção. Ela se diferencia do mundo agindo e ganha identidade atuando.
Todavia, a consciência-de-si não se satisfaz. Apreende o objeto exterior e logo em seguida está novamente desejante. Ela quer mais, para realmente ter sua identidade completa. Ela quer aquilo que lhe faz oposição, aquilo sobre o qual exerce força e que, no entanto, não se põe aos seus pés completamente transformado. O que é isso que ela quer? Trata-se de outra consciência-de-si. A relação da consciência não é mais a sua relação com os objetos do mundo, mas sua relação enquanto interação social. Ela precisa da outra consciência como espelho, para seu autorreconhecimento. Hegel desdobra isso na trama da "dialética entre senhor e escravo", em que mostra as consequências da mútua interação e interdependência entre esses dois elementos. Mostra também as frustrações envolvidas nesse confronto.
A "dialética do senhor e do escravo" termina em frustração porque o senhor, ao fazer o escravo seu objeto, parece perder o que precisa para continuar a se afirmar. Como se afirmar de modo efetivo sobre um objeto que não lhe parece ter energias para reconhecer sua afirmação? Pelo lado do escravo, que é objeto, o processo também se frustra; pois, na verdade, ele não se realiza completamente. O escravo se sabe ainda não completamente objetificado. Ele está alienado do que faz e produz, pois tudo vai para o senhor, mas ainda se percebe como um espírito, pois é ele quem trabalha e transforma a natureza.
Hegel continua a descrever o progresso da consciência-de-si. Chega à interessante figura da "consciência infeliz". Trata-se da consciência que Hegel chama, também, de "a alma alienada". Em vez de perceber que todas as boas qualidades espirituais que atribui a Deus são as boas qualidades que vê em si mesmo, ainda que em potencial, essa forma de consciência se aliena e se torna infeliz à medida que se vê dilacerada. Seu dilaceramento é este mesmo: lança para Deus, ou seja, para algo que não está no mundo, tudo aquilo que, na verdade, era bom e lhe pertencia. É claro que, aqui, não é só o cristianismo que está na mira de Hegel, mas também a moral kantiana. Tudo que divide a natureza humana, jogando uma parte dela contra ela mesma, é o caminho para a figura da consciência infeliz ou alma alienada.
A partir daí, o espírito ou a consciência-de-si em formação vai para estágios mais abstratos, passando pela visão ética dos românticos, para o estágio da religião e, enfim, para a própria filosofia. Ao final, a liberdade se faz presente. Hegel não vê a liberdade como a possibilidade de se fazer o que se quer. A liberdade é a liberdade da consciência, do espírito. E o espírito é mais livre à medida que ganha alto grau de conhecimento de si mesmo, tendo atravessado as suas figuras, ou seja, todos os seus estágios de consciência-de-si. Em um determinado momento, a liberdade se apresenta maximamente, quando a consciência-de-si sabe que suas decisões são as que estão em acordo com a razão - que é uma força necessária e universal. Nesse momento, a própria consciência se vê, então, como sendo algo universal e necessário. Ela se toma, finalmente, como o que é efetivamente, não como a consciência de um indivíduo, mas como uma cons ciência universal. Tendo passado por todas as figuras, superando suas limitações, se igualando a uma consciência universal e se reconhecendo como tal, tem seu grau maior de liberdade. Pois, para o espírito, que nada é senão pensamento, a maior liberdade é a liberdade de amplitude de pensamento. Ao se reconhecer como espírito e como universal, a consciência chega ao conhecimento do absoluto, ou seja, o conhecimento de si mesma como algo que é o espírito. Durante todo o tempo, ela procurou se reconhecer em grau maior e, enfim, se descobre como não apartada do mundo; ela descobre o mundo como sendo ela própria, o espírito - o espírito do mundo.
Hegel opta claramente por entender que o dualismo entre matéria e espírito é uma ilusão. Só há o espiritual como substância do mundo. O reconhecimento disso pelo espírito só é possível se ele, como consciência, passa por formas de ampliação da consciência-de-si, para finalmente chegar a um único saber: que é o saber de si mesmo, o saber de ser ele próprio o espírito que é o esteio do mundo ou o mundo propriamente dito. Este é o conhecimento absoluto. Esse ponto de chegada é, também, o ponto de chegada máximo do "desenvolvimento da consciência da liberdade".
O que atrapalha os seres humanos individuais é eles não se darem conta de que seus espíritos individuais e particulares compartilham de uma razão universal, comum a todos. Eles são parte do espírito comum e universal. A cada passo que eles, os espíritos individuais, dão no sentido dessa compreensão, o próprio espírito - Geist - caminha no processo de autorreconhecimento, ou seja, na direção do saber absoluto que é esse reconhecimento de si enquanto espírito.
A ideia básica de Hegel, então, pode ser expressa na forma resumida da seguinte maneira: tudo é da ordem do espírito à medida que tudo é real e racional ao mesmo tempo; assim, quando o espírito se põe a conhecer as coisas, ele está ao mesmo tempo construindo tudo o que existe e, então, tomando ciência e, efetivamente, consciência disso, até se ver como sendo o construtor de tudo, como sendo ele próprio o mundo. Este é o saber absoluto. O próprio espírito, então, se aquieta, não há mais nenhum impulso para diante. Ele sabe que se deparou com o saber absoluto, o saber máximo de si mesmo. O conhecimento absoluto, como Hegel sintetiza, é "o espírito conhecendo-se a si próprio sob a forma de espírito".
No seu livro sobre filosofia do direito, Hegel chama a filosofia - que nada é senão a sua filosofia - de coruja de Minerva. O pássaro mascote da deusa grega Athena (Minerva, para os romanos), a coruja, é tomada por Hegel como sendo a filosofia, na bela frase "a coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer". O que ele quer dizer é só depois que toda história se desenvolve, quando o espírito se reconhece como sendo ele próprio o mundo, é que é possível para a filosofia aparecer. Pois, se a filosofia é a apreensão do absoluto, seu objeto só é dado nessa situação de fim do processo - ao final do dia, na metáfora hegeliana. A filosofia é a mais alta forma de descrição que o espírito tem para expor a consciência de si mesmo, sua realização do absoluto em forma de chegada a ele.
A partir de meados do século XIX, o pensamento totalizador de Hegel começou a ser criticado de modo cada vez mais contundente. A ideia de que o mundo é um desdobrar espiritual com um sentido, parecia exigir que os homens olhassem a história e reconhecessem esse desdobrar, reconhecessem as manifestações da razão por detrás do caos. Caso o homem comum não pudesse fazer isso, ao menos o filósofo deveria ser capaz de acompanhar o voo da Coruja. Todavia, os homens olhavam para o mundo e, de certo modo, até mesmo com certa paciência em relação ao andamento da história, mas não conseguiam enxergar o sentido falado por Hegel. A noção de que "o real é racional" passou a trazer mais desconfiança que serenidade. Inclusive e decisivamente para o filósofo.
Surgiam pensadores que insistiam em ver a realidade como caótica, perversa, difícil de ser explicada e, então, impossível de ser aceita como racional. Assim, também a noção de que "o racional é real" ganhou seus críticos. Os filósofos desse período continuaram a atribuir à consciência e, portanto, à razão, várias capacidades, mas não as de compreender e explicar perfeitamente o real; viram consciência e razão antes como produtora ou assimiladora de ilusões do que como entidade capaz de espelhar o mundo à medida que o criava. Isso, em parte, porque também tiveram de abrir mão da noção hegeliana de razão infinita, de uma consciência-mundo, voltando à noção pré-romântica de razão finita e da consciência como sendo a consciência humana, particular.
Nesse contexto de dúvidas a respeito do sistema hegeliano, dois filósofos colocaram suas cartas na mesa para rechaçar ou rever esses princípios. Schopenhauer (1788-1860) e Marx (1818 1883) criaram suas filosofias no interior de um período em que havia bastante espaço para desconfiar do otimismo de Hegel.
Karl Marx foi mais que um leitor de Hegel, ele foi efetivamente um hegeliano. Todavia, sua formação filosófica estava alicerçada em uma parte da filosofia clássica grega diferente daquela que Hegel apreciava. Marx devia demais aos materialistas Epicuro e Demócrito, e isso fez dele um leitor especial de Hegel, um filósofo altamente capaz de propor uma séria revisão de Hegel. Ele deu um nome a essa revisão: "inversão". Em vez de confiar no espírito como responsável pelo mundo, como sendo o próprio mundo, Marx buscou encontrar um equivalente materialista para tal entidade. Antes que as figuras do espírito, que faziam a história correr como uma espécie de história da filosofia, o que Marx apontou como caracterizando cada grande época da história foram os modos de produção. Adotando uma forma materialista de falar, ele quis ver a história a partir da relação do homem com a necessidade de organizar o trabalho. A organização do trabalho era, enfim, o chamado modo de produção. A história deveria ser entendida a partir do escravismo, do feudalismo e do capitalismo, e não do desdobrar do espírito do mundo que, enfim, nada seria senão uma história da liberdade enquanto uma história das formas de consciência da liberdade.
Por sua vez, Schopenhauer, diferentemente de Marx, não era hegeliano e não fez sua crítica diretamente a Hegel. Ele não quis revisar Hegel, não quis invertê-lo. Ele quis negá-lo. Negar o básico em Hegel, que há alguma racionalidade metafísica no mundo.
Schopenhauer adotou a postura de um revisor antes de Kant que de Hegel e, a partir daí, elaborou sua metafísica que, enfim, tinha tudo para se colocar como competidora da metafísica hegeliana. Esta tinha como princípio propulsor a razão. Schopenhauer escolheu um princípio propulsor diferente, talvez até mesmo oposto: a vontade. Um mundo regido pela vontade seria bem diferente de um mundo regido pela razão.
Marx colocou cada modo de produção no lugar de cada figura do desenvolvimento do espírito. Assim, em vez de mostrar desdobramentos da filosofia, ele preferiu mostrar desdobramentos da sociedade e da economia. Nos termos do próprio Marx, o que ele quis pode ser descrito assim: antes falar da estrutura que da superestrutura, antes apontar para os mecanismos materiais de produção das ideias que enaltecê-las a partir delas próprias. Assim, a filosofia seria apenas uma manifestação mental dos homens, correlacionada ao modo como eles foram organizando a maneira de produzir e reproduzir a sociedade e suas vidas individuais.
Aliás, a vida individual preocupou muito Schopenhauer, que viu em Hegel um desprezador dessa instância. Schopenhauer destronou a razão e, colocando no seu lugar a vontade, tirou da história hegeliana suas justificativas. Essas justificativas sempre estiveram a exigir sacrifícios dos indivíduos em benefício de uma suposta somatória final favorável, que seria a história. Em parte, colocando o comunismo como telos, Marx manteve-se hegeliano. Não foi o caminho de Schopenhauer.
Diferentemente da razão, a vontade não atua teleologicamente. Estruturando metafisicamente o mundo, ela o empurraria para um desdobramento caótico, sem qualquer telos. Desse modo, longe de apresentar a história como uma série de acontecimentos que, por pior que pudessem ser, teriam um propósito, Schopenhauer apresentou a história e a vida humana sem qualquer propósito pré-definido.
Marx foi a resposta otimista a Hegel. Schopenhauer foi a resposta pessimista. Apesar da história não ser predeterminada, Marx viu os modos de produção se substituindo segundo um trajeto que não desmentia a história de Hegel, o percurso em que se iria da situação de menos liberdade para a de mais liberdade. Schopenhauer não podia endossar nenhuma visão desse tipo. Ao escolher a vontade como o que substituiria a razão enquanto princípio e substância do real, ele fez o mundo perder as condições de querer dar alguma compensação aos indivíduos pelos infortúnios que cada um pode passar na vida.
Apesar dessas divergências, Schopenhauer e Marx tiveram uma atitude em comum: ambos quiseram encontrar uma condição de celebração da vida ética. Marx acreditou que, para se ter uma vida ética, seria necessário eliminar da vida social o que ele chamou de ideologia. Para tal, seria imperativo organizar a forma de produzir a sociedade, o trabalho, de um modo novo. Esse modo novo implicaria na extinção do mercado. Este seria o foco de produção da ideologia, o produtor da falsa consciência reinante, o elemento que estaria a impedir o homem de ver as coisas corretamente e, assim, agir corretamente e viver bem.
Schopenhauer acreditou que, para termos uma vida ética, teríamos de escapar da quase inexorabilidade da vontade. Não se conseguiria isso por meio de uma revolução, como Marx pensava. Tal obra se realizaria por meio de atitudes individuais. Cada pessoa deveria negar a vontade individualmente, ou seja, a vontade, que existe em cada homem e cada mulher, teria de ser posta em hibernação e, para tal, a melhor saída seria a arte. A fruição estética seria o modo pelo qual as pessoas deixariam o interesse de lado, apertando a vontade contra a parede. Não se teria a vida ética a partir da construção de outra sociedade, como o comunismo, por exemplo, e sim a partir de uma postura nova de vida, a do asceta que busca escapar de impulsos interesseiros à medida que gasta seu tempo embevecido com a fruição estética.
Segundo o clima da modernidade, Schopenhauer também buscou elaborar sua noção de sujeito. Ele adotou de Kant o esquema geral do sujeito transcendental. Mas individualizou esse sujeito e, assim, se viu obrigado a lhe dar um corpo. Aceitando a divisão kantiana entre fenômeno e coisa em si, operou transformações nesses elementos e conceitos, criando seu próprio sistema filosófico. Uma das principais transformações que fez foi a de tratar os fenômenos como representações do sujeito, e tomar a coisa em si como um elemento metafísico determinado: a Vontade (com V).
Em O mundo como vontade e representação, Schopenhauer assume que os fenômenos são dados ao sujeito por meio de sua atividade de representação. Tudo que é objeto para um sujeito é submetido ao tempo, ao espaço e à causalidade, essas três instâncias são funções do entendimento que, nesse esquema, diferentemente do de Kant, passa a ser capaz de intuição.
Em correspondência ao fenômeno, estabelece-se a coisa em si que, por definição, seria inacessível. Aliás, esse era um problema em Kant: como estabelecer o contato da coisa em si com os elementos subjetivos sem que houvesse qualquer descaracterização da primeira, enquanto aquilo que não é e não pode ser para o outro. A solução schopenhauriana é engenhosa: ele dota seu sujeito de um poder de conhecimento que é especial, não restrito ao saber intelectual da representação - o "saber" do corpo.
O saber do corpo é especial neste exato sentido: trata-se de um tipo de informação do corpo sobre sua própria vontade, algo da ordem do interior e que é imediato, não se submetendo à causalidade e, portanto, não se dando no âmbito da representação. Trata-se de algo que revela o que é o infundado, ou seja, a própria coisa em si. Nesse caso, a coisa em si é conhecida, mas não da maneira cognitiva. Ora, e o que é o em si? O em si é a vontade.
Mas a vontade em Schopenhauer não é um elemento exclusivo do sujeito. Ela é antes a Vontade que a vontade. Sendo a coisa em si, ela é a substância do mundo. É a força metafísica (mas com um bom aspecto cosmológico) que preenche e comanda todo o mundo e, assim, ela também está no sujeito. O próprio sujeito tem condições de saber disso, cognitivamente, por meio de um procedimento analógico. Ou seja, o sujeito toma a sua vontade subjetiva (v), que ele, por assim dizer, conhece (por meio do saber do corpo) como uma amostra da vontade geral (V), que é o elemento metafísico básico do mundo. Schopenhauer diz que essa maneira do próprio sujeito entender a situação toda é sua disposição para designar o gênero por meio da espécie mais perfeita, seu fenômeno mais evidente, que é a vontade humana. Tomando a vontade humana que vem da informação corporal, o sujeito, por analogia, vê como que é a vontade que está no controle de todo o universo. Controle que, na verdade, é um descontrole. Pois a Vontade não é a razão, é claro, ela não mede consequências e não tem nenhum telos ou disposição organizativa. Ela é abrupta e responde pelo que o mundo é, ou seja, um todo impulsionado por uma força que não se dispõe a nada, a não ser ao borbulhar caótico das contingências do mundo.
Assim, há dois pontos de vista para se observar o mundo. Ambos são perspectivas do sujeito, é claro. Todavia, uma perspectiva é representacional e intelectiva, e outra é a partir da vontade. Tomar o mundo a partir da representação, isto é, pelos seus fenômenos, sempre é uma atividade organizativa do sujeito. Nesse caso, o que se estabelece na cognição é o que aparece ao sujeito - é o mundo como aparência, o mundo fenomênico. Mas não há aparência sem seu substrato, a coisa em si, o que é o real, ou seja, a vontade. A essência do que é representado, do que é o fenômeno, é a vontade. Ela é um querer-viver. É um querer-viver livre e cego e sem qualquer telos, portanto, responsável pelo sofrimento existente no mundo.
Qualquer perspectiva no sentido do estancamento do sofrimento - seja este qual for, não somente o humano - só pode se estabelecer se houver condições de uma negação da vontade. Isso é possível?
Sim e não. O homem não pode fazer a vontade que, enfim, é a substância do mundo, deixar de agir. Mas, ao menos, parte dessa substância ele pode negar. Ele pode negar a vontade que há nele próprio. O mecanismo de negação é a atitude estética que, nesse sentido, é a maneira de Kant entender a fruição estética. A passividade com que a fruição do belo ocorre, que é como Kant caracteriza a experiência estética, é exatamente o que é recomendado por Schopenhauer para cada um dos homens que desejam se portar eticamente. Pois é ali, nessa fruição que anula toda a vontade, que ocorre o único momento e o único espaço em que esse querer-viver cego e responsável pelo sofrimento no mundo recebe um freio.
Desenvolvendo sua narrativa sobre o funcionamento do que chamou de capitalismo, Marx acrescentou à sua doutrina uma parte tipicamente filosófica ao falar da alienação, do fetichismo da mercadoria e da reificação. Em suma, Marx trouxe para a filosofia uma versão transformada da teoria dos ídolos de Bacon e da "ilusão necessária" das ideias da razão de Kant. Não inventou a palavra ideologia, mas criou sua noção moderna.
Nos volumes de O capital e outros escritos, sua ideia filosófica emerge de forma especial. Trata-se da ideia de que, no capitalismo, o homem é alienado do produto do seu trabalho, e isso o afasta de si mesmo e dos outros homens à medida que seu corpo, seu espírito, seus colegas lhe são afastados. Afinal, o que faz seu corpo, sua atividade espiritual e seus parceiros a não ser se reencontrar com o que produziram sem se reconhecer no que produziram e sem se reconhecer como irmanados no que produziram? Como isso ocorre?
Eis a explicação marxista. Os trabalhadores são trabalhadores durante o dia todo. Todavia, ainda que tenham claro isso, não sabem muito bem o que é feito no próprio trabalho. O não saber, nesse caso, não é por ignorância pessoal, por incompetência individual. O não saber, nesse caso, se faz em um sentido bem determinado e por uma razão simples: quando encontram as mercadorias, não as enxergam como coisas feitas por eles mesmos, nem no todo, nem parcialmente. As mercadorias não aparecem como objetos gerados pelos trabalhadores, pois se mostram na forma de mercadoria. Essa forma ludibria todos. Isso porque, uma vez no mercado, as mercadorias ganham autonomia própria, e os trabalhadores, por sua vez, tornam-se os objetos que seguem as regras do mercado que, enfim, não colocam as mercadorias para serem adquiridas. Essas regras colocam as mercadorias como potências vivas, que escolhem seus consumidores e compradores. Ora, os trabalhadores precisam das mercadorias. Caso eles não as adquiram, perecem, estão "excluídos do mercado", o que é sinônimo de se estar fora da vida nas "sociedades capitalistas". Assim, as mercadorias se colocam diante dos homens como elementos exteriores, vindos sabe-se lá de onde, para comandá-los, subjugá-los.
Marx diz que a relação entre os homens produtores, que se estabelece no capitalismo, é nada mais nada menos que uma relação social entre produtores, mas aos olhos deles próprios, essa relação não aparece dessa forma; ela é vista como uma relação em que os produtores não existem, de modo que a relação se dá somente entre os produtos de seus trabalhos. O clássico exemplo, típico da época de Marx, é o do alfaiate e do carpinteiro. Tal relação aparece na sociedade não como uma relação entre um homem e outro homem, mas sim entre o casaco feito pelo primeiro, mas alienado deste, e a mesa feita pelo segundo, mas alienada deste. Os homens, os vivos, não se relacionam, mas a mesa e o casaco, que são objetos - são, afinal, coisas mortas -, se relacionam. Elas se colocam como parceiras no seu novo habitat, o mercado. Então, dizem como deverá ser a relação dos que eram os vivos, os homens, e como eles devem se comportar, tanto diante delas quanto quando estiveram de volta ao lar. A relação entre coisas, entre mercadorias, tornase um companheirismo e, assim, uma ordenação sobre os que perderam qualquer relação entre si, os trabalhadores. Por sua vez, estes passam a ser, eles próprios, as coisas, então comandadas pelos objetos que se mercadorizaram e ganharam vida. Os objetos ganham a condição de sujeitos. Ora, tal relação entre coisas, que aparece aos olhos de todos no capitalismo como uma relação de entes, quase que uma relação social entre entes vivos, não deve ser tomada como falsa no sentido de não existente. Ela é de fato existente, mas oculta outra relação, que é a relação entre os produtores - eis aí o fetichismo da mercadoria. Cada produto do trabalho humano é fetichizado, ganha vida e se põe diante do seu produtor.
No contexto do trabalho industrial, há a segmentação da produção e a consequente alienação ligada a esta. Isso se dá pela organização da produção segundo regras do mercado, que termina por não ser a produção comandada por qualquer inteligência humana, unificada, ainda que se pense que quem organiza cada fábrica seja um patrão ou um engenheiro executivo. Além disso, à medida que o capitalismo cria tecnologias que ampliam a segmentação da produção, mais e mais cada homem se desconecta do que faz na vida cotidiana. Então, torna-se alienado do que produz e, portanto, alienado de si mesmo, do que é, ou seja, não se reconhece como um trabalhador que produz algo. Os produtos, as peças feitas na fábrica, podem ser reorganizadas e, uma vez no mercado, se comportam como mercadorias. Nasce aí a estranha inversão. Elas, as peças, travam relações vivas. O trabalhador nada é perante elas. Pois cada homem perde sua identidade humana e é reduzido a portador de um elemento que, sendo a mercadoria, impõe-se na negociação como o que é o vivo no mercado. A mercadoria tem identidade. Cada porta dor é apenas portador. Essa é uma parte da "ilusão necessária", a ilusão que está na estrutura da sociedade capitalista. Em uma palavra: a ideologia.
A ideologia, na explicação marxista, aparece como o que é inerente ao funcionamento do modo de produção capitalista. Há uma peculiaridade no trabalho sob o capitalismo. O trabalho ganha expressão como uma propriedade objetiva de seus próprios produtos, ou seja, o seu valor. No feudalismo, por exemplo, o trabalho é o que é fruto das relações sociais. O servo trabalha na parte do feudo que lhe corresponde e entrega parte de sua produção ao senhor feudal em troca de uma possível proteção (o servo não tem outra opção, pois está fixo na terra, no feudo). Nada há de misterioso nisso. No capitalismo, o trabalho e as relações entre produtores, produtos e demais elementos são escamoteadas. Uma vez que os produtores individuais de mercadorias trabalham independentes uns dos outros, e a coordenação de tudo isso se faz a partir do mercado, há uma "divisão do trabalho" que faz com que a relação entre pessoas, entre produtores, não seja mais levada em conta, sendo substituída no imaginário social pela relação entre mercadorias compradas e vendidas. O valor, então, não é algo que é ganho pelas mercadorias, pela incorporação do trabalho nelas, mas aparece aos olhos de todos como sendo próprio das mercadorias - este é o centro da ideologia capitalista, da falsa consciência criada no capitalismo a respeito de como ele se dá e se transforma. Assim é que o capital, o dinheiro, os juros, tudo que é conferido aos objetos, surgem como os verdadeiramente vivos, uma vez que subjugam os vivos, os homens, que então se portam como mortos, como coisas - eles são reificados. Essa ilusão não é um fantasma, ela é uma ilusão existente, real enquanto ilusão, e se faz presente em um ponto importante da lógica do capitalismo.
Marx indica que o fetichismo da mercadoria, esse aparecimento dela como o que é o vivo, é o exemplo mais universal e simples pelo qual o capitalismo esconde as relações sociais, ou seja, não mostra que é pelo trabalho incorporado no produto que este ganha valor, gerando lucro, mas quer fazer parecer que o lucro se deve ao capital.
Assim, Marx vê a alienação como uma moeda que tem em uma face o fetichismo da mercadoria e na outra a reificação do trabalhador. Em certa medida, é a isto que Marx chama de ideologia: uma ilusão necessária. Trata-se de uma ilusão necessária que não é produto da própria razão enquanto elemento da mente humana, mas uma ilusão inerente à estrutura da realidade enquanto essa realidade é a das relações capitalistas de produção.
O século XVIII chamou a si mesmo de o século da razão. O século XIX ficou conhecido como o século da história. Todavia, muito dessa história nada era senão uma versão dos acontecimentos segundo o olhar da razão. Apesar de ser um século de historiadores, o XIX foi antes de tudo um século da filosofia da história.
Hegel fundiu a história da razão com a razão da história. Depois dele, uma boa parte dos filósofos não conseguiu filosofar sem estabelecer uma filosofia da história. Rechearam essa perspectiva à medida que tomaram conhecimento das pesquisas sobre a evolução, levadas adiante por outro gigante dessa época: Charles Darwin. Este, por sua vez, derrubou o muro entre os bípedes sem penas e os seres brutos, unindo todos os habitantes da Terra em uma só família, para além do que o Evangelho judaico-cristão havia feito.
Os pensadores que vieram na esteira de Hegel e Darwin, então, não conseguiram deixar de elaborar grandes narrativas sobre o desenvolvimento da história do mundo e dos homens, inserindo suas próprias filosofias nesses romances. Marx, Coorte e Nietzsche fizeram isso de modo magistral, deixando o século seguinte, o século XX, completamente dependente dessas maneiras de explicar as épocas como tendo se iniciado, justamente, com a origem de todos os tempos.
Marx e Nietzsche usaram de suas filosofias da história como instrumentos da filosofia. Nietzsche estava bem menos preocupado que Marx em dizer como a história funcionava. Sua filosofia da história não lhe era útil como explicação da história e, sim, como uma narrativa de apoio para seu projeto de fustigação da metafísica. Esse seu projeto era o de combate ao plato nismo e, portanto, ao modo de pensar que ele acreditava preso às valorações, ao que deixava o homem diminuir-se diante de si mesmo e se tornar infeliz. Marx, por sua vez, interpretou a história para poder, a partir disso, esboçar uma teoria das revoluções e, então, explicar as possibilidades de êxito político de forças sociais de seu tempo. Nenhum deles chegou a considerar a sua visão da história como uma férrea e determinante maneira de traçar o caminho antecipado da história. Isso, ambos deixaram nas mãos de Coorte. Este, por sua vez, estabeleceu uma filosofia da história que tinha como objetivo claro substituir a própria história. Essa forma de ver a história caracterizou o século XIX e, no século XX, influenciou muitos intelectuais e políticos, inclusive os herdeiros de Marx e Nietzsche.
Marx explicitou sua filosofia da história no célebre Introdução à crítica da Economia Política, de 1859. Neste, ele se lembra de como ele e Engels começaram a estudar os problemas econômicos, e de que maneira chegaram à teoria social que, como entendiam então, parecia os tornar mais aptos para a compreensão do desenvolvimento social. Nesse livro, Marx divide a vida social em duas instâncias, que ele chama de estrutura e superestrutura. Na primeira, ele coloca as forças produtivas, que são a terra, as máquinas, as indústrias, a ciência e a tecnologia. A segunda, ele reserva para as relações de produção, que são as leis, as instituições políticas, a religião e as doutrinas várias sobre diversos assuntos, inclusive a filosofia. A dinâmica da história diz que as forças produtivas se desenvolvem, sob o comando de uma classe ou grupo social, por terem a seu favor as relações de produção. Todavia, as forças produtivas, por suas próprias características, nunca cessam de avançar e, em determinado momento, não contam mais com as relações de produção. Estas, então, começam a servir de freio social, jurídico, político e ideológico. Eis aí que essa contradição se explicita em seu cume por meio de uma revolução política. Grupos sociais que não eram os dominantes tomam a sociedade e o estado e buscam um novo ordenamento jurídico e político para libertar o desenvolvimento social.
Com essa narrativa, Marx elaborou uma filosofia da história bastante dependente do modelo gerado pelas convulsões modernas, as chamadas revoluções burguesas. Esse movimento ele descreveu por meio da metáfora da toupeira. A revolução é a toupeira que cava às escondidas e bota seu focinho para fora no lugar em que se menos espera. Ou seja, as relações de produção que, enfim, começam por criar entraves às forças produtivas, vão dar margem, mais cedo ou mais tarde, para um rearranjo político, mas não é possível de se prever muito bem em que lugar isso levará a uma revolução política.
Nietzsche explicitou sua filosofia da história em vários de seus livros e, de um modo mais organizado, no Genealogia da moral, de 1887. Diferente de Marx, ele não lida com grupos sociais recortados socialmente, mas com tipos. Seus tipos são entidades com psicologias bem definidas, postos sob duas grandes rubricas: "fracos" ("doentes" ou "escravos") e "fortes" ("sadios" ou "senhores"). Os "fracos" não afirmam a vida e são responsáveis pela valoração moral, enquanto que os "fortes" são afirmadores da vida e estão além (ou aquém) de qualquer valoração, ao menos quanto a valorações intencionais. O fio condutor da dinâmica histórica é o desenvolvimento do niilismo, ou seja, o contínuo descrédito de todos os valores. Os "fracos" são os promotores da valoração moral que faz os "fortes" verem a si mesmos não mais como o que são, mas segundo a ótica do valor moral bom e mau. Uma vez nessa atmosfera, não tendem mais a achar que o contrário de bom é ruim, em um sentido técnico, mas que é mau, em um sentido moral. Cria-se aí a má consciência. Os fortes se sentem culpados de serem o que são - os maus - e, uma vez culpados, já estão na condição de "fracos". Desse modo, a história é a vitória dos "fracos", dos "escravos", dos "doentes". Essa vitória torna tudo decadente, ninguém mais ousa entrar na vida e vivê-la segundo tudo que se há nela (o amor fati), e por isso o niilismo é um destino posto.
Apesar dessa narrativa estar completamente descolada da teoria social e, portanto, não rivalizar com as elaborações de Marx, é certo que não foram poucos os que absorveram aspectos dela para construírem uma teoria social bem particular. Assim, forças psicossociais decadentes, ressentidas, consubstanciando-se na força dos "fracos", se poriam sempre à espreita dos "fortes", pronto para fomentar entre eles a má consciência. Os "fracos" venceriam, finalmente, impondo um destino aos "fortes" e à história em geral. A história chegaria ao fim por uma vitória da decadência.
Augusto Comte não fez tipologia e nem teoria social da história, não ao menos em um sentido amplo. Sua filosofia da história foi claramente antropológica, com consequências definidas para o campo epistemológico em articulação a uma hierarquia política. Sua visão ficou conhecida como lei dos três estados. Segundo Comte, a humanidade passa por três estados: a fase teológica, a metafísica e a científica. O homem inicia sua jornada explicando o mundo por meio de forças míticas - deuses e demiurgos. Deixa de lado tais forças e inventa a filosofia, buscando um porto seguro em um mundo além do físico, apontado pela razão. Por fim, aceita que deve permitir vir à tona a positividade dos fatos, e então passa a explicar o mundo pela ciência.
A cada estado do desenvolvimento do espírito humano, Comte aponta para um tipo de mentalidade que teria preferências políticas definidas: a fase teológica corresponde um gosto pela monarquia militarista; a fase metafísica corresponde uma mentalidade que vê o melhor governo como o composto por juristas, segundo as regras de um Estado constitucional; a fase científica ou positiva corresponde a uma política feita por sábios e cientistas, deixando o poder material e econômico nas mãos dos industriais.
Comte teve como lema o "saber para prover". A filosofia da história, como ele a formulou, estava longe de ser uma forma heurística para novos estudos, como em Marx, ou um aríete para combates internos à filosofia, como em Nietzsche. Seu objetivo era o de efetivamente dar um panorama sobre qual fase cada grupo humano estaria vivendo, no sentido de destacar os mais e os menos evoluídos. A ideia básica era, a partir daí, poder então prever os passos posteriores do grupo observado e, assim, ter uma noção segura do que poderia faltar a tal grupo. A garantia do futuro sem crise era o objetivo máximo de Comte.
O século XIX não foi o século de Marx ou Nietzsche, e sim de Comte. Sua filosofia da história não apontava para nenhuma toupeira que pudesse, ao colocar o focinho para fora, anunciar a convulsão social. Também nada dizia daqueles que, valorando moralmente, deslocariam a cultura ocidental para uma vida tediosa. A história, nas linhas gerais de sua concepção, mostrava um único bem máximo, o conhecimento científico, e um único herói verdadeiro, o planejador. Nada justificaria colocar freios ao trabalho científico, pois ele sim traria a segurança da possibilidade de dar a cada nação a provisão necessária segundo seu estágio de desenvolvimento. Essa ideia trouxe, sem dúvida, aquilo que o século XX mais precisou: a segurança de que é possível administrar o presente com vistas ao futuro porque é possível fazer planejamentos.
A palavra planejamento teve vida longa no século seguinte e, depois da Segunda Guerra Mundial, ganhou todos os governantes. Passou-se, inclusive, a servir de parâmetro para a escolha destes. Político bom seria aquele que mostrasse saber planejar o desenvolvimento. Isso se casou com a emergência das políticas econômicas de caráter social-democrata. Chegou à aberração nos regimes fascistas e comunistas, cuja sede louca foi a de criar administrações em que o inusitado e o contingente seriam vistos como um crime. Comte deu ao século XX o seu herói que, é claro, tinha um rosto típico de século XIX: o rosto do administrador. Caso Comte quisesse parodiar Marx, teria dito, "engenheiros do mundo, uni-vos - uni-vos em torno do objetivo de se tornarem administradores".
Ao tecer sua filosofia da história, Nietzsche colocou sua própria época - os tempos modernos - como o ponto máximo de um longo processo de desgosto em relação à vida - tomada segundo a sua noção de vontade de potência ou vontade de poder. Para ele, o homem moderno era o exemplo do decadente, aquele em que a afirmação da vida mostrava sua mais fraca luminosidade. Qual o destino de proprietários de tamanha fraqueza? Apontar para as consequências desse desgosto em relação à vida implicava, para Nietzsche, em saber como que tal processo havia se iniciado. Indo ao berço da civilização ocidental, Nietzsche não poderia encontrar outros que não os gregos. Ele os investigou com cuidado e anunciou os resultados dessa sua pesquisa como a sua grande descoberta. Estava ali, na cultura grega, a fenda da qual teria brotado o odor horrível de toda a cultura da decadência. Tratava-se de uma fenda histórica, que teria dividido a história dos helenos. De um povo capaz de viver sob as suas melhores diretrizes instintivas, que os fazia fruir a harmonia entre os princípios apolíneos e dionisíacos, os gregos se tornaram um conjunto de homens com instintos degenerados, já não mais capazes de viver em suas obras o êxtase da música em casamento perfeito com a serenidade das artes plásticas. Nietzsche apontou para as transformações do teatro grego como um primeiro lugar capaz de mostrar essa degenerescência.
Foi na tragédia grega que Nietzsche viu a emergência dos primeiros sintomas perigosos da degenerescência dos instintos. Em um determinado momento histórico, o coral e, portanto, a música, foi colocada de lado, perdendo a sua função na tragédia. Tudo que o deus Dionísio mais amava parecia não mais poder conviver com tudo que Apolo representava. Com essa separação, a tragédia ganhou aspectos mais racionais e menos catárticos. Não à toa, era esse tipo de teatro que agradava Sócrates, o homem racional que, enfim, se sobrepunha ao artista. Nietzsche não demorou em perceber que se ele quisesse entender a decadência representada pelo homem moderno e, de certa forma, por ele próprio, ele teria necessariamente de compreender Sócrates. O "pai da filosofia" parecia ser o grande sintoma dessa doença que acometeu a Grécia, a da desarmonia entre o dionisíaco e o apolíneo criada a partir da degeneração dos instintos dos antigos helenos.
Segundo Nietzsche, os filósofos pré-socráticos não perderam a altivez. Mantiveram-se sóbrios, pois evitaram enaltecer a investigação moral. Quando falaram de assuntos morais e éticos, de valoração, fizeram-o sob os cuidados da cosmologia. Preocuparam-se em lembrar ao homem que a sua melhor ação seria aquela que ouvisse as vozes do princípio regente do cosmos. Assim, escaparam de apontar com o dedo - um costume burguês feio, não nobre, como Nietzsche lembrou - as pessoas e as coisas, qualificando-as como boas ou más em um sentido moral propriamente dito. Todavia, não foi o que fez Sócrates.
Sócrates priorizou a investigação moral, desarticulou-a do plano cósmico e a amarrou ao que veio a ser conhecido como a sua marca, o intelectualismo. O que passou para a história como o intelectualismo socrático dizia que as ações que vemos como causadas por uma "fraqueza da vontade" não seriam frutos de outra coisa senão de opções conscientes, ainda que, uma vez contrárias ao próprio indivíduo; essas opções teriam sido assumidas pelo indivíduo por causa do seu fracasso do conhecimento, ou seja, sua ignorância. No limite, não existiria a "fraqueza da vontade". Toda e qualquer conduta adviria de uma determinação do intelecto. A má conduta sempre seria danosa ao homem e, por isso mesmo, qualificada negativamente, mas não viria de outra fonte senão da ignorância. Esse modelo a respeito da ação humana foi usado por Sócrates para olhar os helenos, torná-los como doentes e, então, os servir. Como, efetivamente, ele serviu aos helenos?
Em tempos remotos, bem antes de Sócrates, os helenos não imaginavam usar da razão. Eles seguiam seus instintos e, assim, se mostraram um povo altivo, nobre, saudável e forte. O teatro, por meio da tragédia que ainda não colocava de lado a música, mostrava bem o gosto dos helenos pela vida em toda a sua inteireza. Agiam não "de caso pensado", mas "por natureza", enchendo a vida de aventuras - por isso mesmo as épocas posteriores qualificaram esses tempos helênicos passados como a época heróica. Mas, na época de Sócrates, os gregos já não tinham muito do espírito dessa época. Eles já estavam todos enfermos. Qual era a enfermidade? Nunca se soube de onde veio o vírus, nem mesmo o que era de fato. Como toda doença, a dos gregos também foi identificada e nomeada apenas pelos sintomas: eles pareciam ter perdido os instintos. Ou melhor: já não confiavam neles. Estavam atabalhoados e indecisos. Sem o guia natural, não conseguiam tomar um bom rumo. Sócrates era o mais doente entre os gregos. Nele, a doença havia se agravado de tal maneira que ele se mostrava invertido: sua razão aparecia como sendo seu instinto. Sendo o mais doente entre os doentes, Sócrates se viu na melhor condição de se apresentar como o médico dos gregos. Ele se sentia nesse direito, uma vez que havia conseguido sobreviver mesmo doente, isto é, já sem os instintos. Ele quis ser o médico das almas.
Todavia, sua forma de medicina, segundo Nietzsche, era a do charlatão. O que ele prescrevia? Sua receita colocava o povo heleno no uso da razão. A razão deveria conduzir a vida particular e pública. Mas quem iria acreditar nisso? Por tudo que os deuses haviam exemplificado, a razão jamais poderia competir com os instintos, pois sempre teria sido um poder inferior. Todavia, na falta dos instintos, ela foi apresentada não propriamente como remédio, mas como o que seria o elemento natural humano, a força interior própria do homem, superior aos instintos. O homem racional foi posto aos gregos como o que seria o homem par excellence. Foi exatamente isso que Sócrates desenhou para todos os jovens gregos por meio dele próprio.
Sócrates sabia que a apologia da razão não bastava para trazer os gregos para sua receita. Como mostrar a eles que aquilo os salvaria? Por que eles acreditariam na razão como o elemento natural e forte, que deveria ser cultivado? Na avaliação de Nietzsche, Sócrates era ladino e se aproveitou do gosto dos gregos pelos jogos para fazer o que tinha de fazer.
Ele, Sócrates, espreitava a juventude exatamente no lugar dos jogos, nas praças esportivas e ginásios, e ali seduzia os incautos. Quando os jovens terminavam as atividades físicas, Sócrates surgia do nada, oferecendo a eles um novo e inebriante jogo: a investigação em forma de dialética. Os gregos, em especial os jovens, não tardaram em dar crédito para aquela gostosa e atra tiva atividade de dar e pedir razões em disputas verbais. Logo puderam manusear o que passaram a chamar de racionalidade. Tornaram-se mestres nisso. Esqueceram seus deuses e os tempos heróicos, onde tudo havia se portado de modo muito instintual e, assim, deixaram a porta aberta para votar na razão como a única guia. Não tardaram em assumir que, de fato, o dote natural próprio do homem era a racionalidade. Então, acreditaram-se curados - tinham recuperado a capacidade de seguir um rumo. Ganharam um novo guru para a vida e deixaram para trás as lembranças de que haviam sido um povo sadio exatamente por terem utilizado o que, a partir de então, passaram a amaldiçoar - os instintos.
Todavia, a atividade de fazer tudo a partir de decisões da razão não trouxe a felicidade esperada. Pois a própria atividade racional depende de ascetismo, concentração, contenção de desejos e todo o sofrimento que viria do famoso "intelectualismo socrático".
Com efeito, Sócrates era adepto da autopenitência. Não era alguém que gostava da vida. E tinha clara consciência do caráter paliativo de seu remédio. Estava cansado da vida. Festejou a hora de sua morte. Sabe-se que brindou com veneno quando tal hora chegou. E todos os que o seguiram no Ocidente - o estoicismo, Jesus, os sacerdotes, os homens modernos do Iluminismo e da ciência e, enfim, as feministas e os socialistas - continuaram esse percurso de confiança na razão e de ódio aos instintos e à vida, portanto, de cultivo da doença e do cansaço da vida. Todos foram grandes doentes e perfeitos arautos do niilismo - a desvalorização de todos os valores.
Nietzsche viu a busca pela verdade, inaugurada por Sócrates, como aquilo que precisaria ser denunciado como a perversão do Ocidente. Ora, mas não era a dialética que tinha como objetivo a verdade? Então, ela, o procedimento socrático-platônico, teria de ser mostrado como frascos do charlatão. Preparar-se para uma vida sem essa busca intelectual, passar a se entregar para uma vida esfuziante e para além do homem, este era o projeto de Nietzsche.
Todavia, como levar adiante esse projeto em um mundo onde todos são socráticos? Nietzsche resolveu, então, apanhar alguns instrumentos de Sócrates e voltá-los contra todo o platonismo. Seu propósito era a destruição do maior legado de Platão ao Ocidente: a metafísica. No bojo dessa tarefa, também deveria ir de embrulho a metafísica moderna, a que se iniciou com Descartes. Derrubar a obsessão do filósofo francês pela verdade seria um bom passo contra todo o programa infeliz do racionalismo ocidental. Seria ótimo libertar o homem daquilo que havia sido o objetivo da droga chamada dialética.
Como atacar a busca de verdade, iniciada na modernidade por Descartes? Descartes não queria só a verdade, ele queria o próprio critério para avaliar se enunciados são ou não verdadeiros. Essa era sua obsessão, segundo Nietzsche. Foi essa obsessão pela verdade que ele transmitiu a Kant e Hegel. Nietzsche acreditava que o obcecado tem um ponto fraco, que é sua atenção exaustiva ao que quer realizar, sem se dar conta de detalhes laterais. Excelente psicólogo de filósofos, Nietzsche entendeu que podia dar tombos decisivos nesses sábios à medida que fizesse entrar em cena os detalhes.
A certeza do Cogito implica na noção de sujeito, como então fora traçada na modernidade, principalmente a partir de Kant. Para a destruição da metafísica moderna, o melhor seria mostrar que a noção de sujeito nunca havia passado de um erro. Caso fosse possível dar indicações de que o sujeito metafísico não existe, ou ainda, que não existe sujeito algum, todo o edifício da metafísica moderna viria abaixo. Sufocar o socrático Descartes e o não menos socrático Kant sob escombros do sujeito era tudo que Nietzsche mais queria. A partir daí, ele cuidaria do segundo passo, o de desmontar a noção de verdade tradicional, e com isso golpear a herança de Platão.
Nietzsche se dedicou a esse projeto apontando todas as suas baterias para o sujeito moderno, em especial para uma noção que ele avaliou central na constituição da subjetividade: a autonomia, o resultado da liberdade do eu.
Para desempenhar sua tarefa, Nietzsche tomou a linguagem como seu objeto. Colocando em seu ateliê a composição da estrutura gramatical, lançou mão de uma ideia que David Hume já havia utilizado quando falou do eu vazio. Notou que nossa noção de sujeito é inerente à nossa linguagem - o sujeito é o elemento de enunciados e frases que executa a ação. Ora, até aí, nada além de uma das definições de sujeito, já presentes na teoria da substância de Aristóteles, aproveitada por Descartes e outros. Qual o problema do sujeito ser uma noção inerente à gramática? O problema teria sido o fato de que, no contexto da evolução dessa noção, poucos escaparam de hipostasiar esse sujeito, dando a ele poderes ontológicos e metafísicos, fazendo-o ultrapassar sua realidade, a de mera partícula de uma sentença.
Essa denúncia nietzschiana já havia sido feita, em certo sentido, pelos empiristas a partir de certo nominalismo. Todavia, os empiristas e nominalistas pararam na denúncia, eles não levantaram uma exposição geral da filosofia para propor a compreensão dos motivos que teriam levado os filósofos a agir como agiram. Nietzsche fez diferente. Ele retornou à sua filosofia da história a fim de mostrar uma narrativa ampla, que daria os motivos pelos quais o que se fez no Ocidente implicou naquele caminho, e não em outro.
Nietzsche inicia dizendo que a linguagem nada seria senão uma prática social. Teria surgido com o homem gregário, já vivendo em comunidade. Ora, uma vez em comunidade, a necessidade de ordem e paz se sobrepôs a qualquer outra necessidade. Apareceram os mecanismos de troca e, com eles, as determinações de promessa e as formas de cobrança do prometido, da dívida. Ora, no ato da cobrança, o confronto entre fracos e fortes mostrou-se problemático. Mas os fracos, em maioria, logo descobriram que poderiam desenvolver contra os fortes uma estratégia - já um uso da racionalidade - que os faria recuar. Os fracos inventaram a ideia de liberdade.
Não tardaram em continuar o plano, e aplicaram a ideia de liberdade à vontade. Levaram aos quatro cantos a ideia de que a vontade é livre, que há a escolha, e que a razão pode separar a vontade da inclinação e do desejo, torná-la vontade racional. Assim, quando intimidados pelos desejos predatórios dos fortes, no âmbito de qualquer disputa comunitária, passaram a avaliar o comportamento do opressor não como uma atividade normal dos fortes, aquela que diz que o forte domina o fraco. Classificaram o comportamento do forte como um erro, como maldade, e cultivaram a ideia de que o forte teria de ser posto para fora da comunidade, que ele não poderia conviver socialmente, uma vez que causava um mal comunitário. Qual mal? Ele criava a injustiça. Fomentava a desagregação da comunidade. Assim, ao lado da ideia de liberdade, os fracos criaram também a ideia de justiça.
Os fracos foram rápidos nesse trabalho. Não divulgaram essa novidade apenas aos seus parceiros fracos, também fizeram isso nas fileiras dos fortes. Disseram ao forte que se ele se tornasse bom, se deixasse de ser mau, poderia ficar no convívio comunitário. Mas o forte não sabia o que era este tão valorado comportamento bom. Em outras palavras: ele não entendia o sentido da palavra bom como ela estava sendo utilizada pelos fracos. Até então ele havia usado as palavras bom e mau em um sentido técnico: bom é o termo para batizar qualquer coisa que cumpre suas funções, e mau é o termo para qualquer coisa que desempenhe de modo ruim suas funções. Ora, os fracos insistiram que o comportamento do forte não era digno. E deram o passo decisivo: falaram que esse comportamento era livre, que poderia ser mudado. Poderia e deveria ser alterado, se ele se dispusesse a dominar e inverter sua vontade - eis a regra inventada pelos fracos. Como qualquer outro, o forte seria um sujeito, isto é, um eu dotado de liberdade individual - autonomia - o suficiente para optar por outro tipo de comportamento. No momento em que o forte acreditou nisso, ganhou sua má consciência. Passou a sentir culpa e, em seguida, ficou compadecido do fraco. Passou a querer mudar e ser bom - bom no sentido moral, no sentido dado à palavra bom pelos fracos. Nesse exato momento, ele, forte, já não era mais forte, já havia se tornado um a mais entre os pacatos homens da comunidade.
Qual o argumento que teria ajudado o forte a acreditar no engodo do fraco e imaginado que poderia mudar? Um único: a conversa sobre a liberdade e sobre o conceito de autonomia. Ele passou a acreditar na existência do sujeito moderno. Ele se assumiu como um indivíduo - o animal dotado de liberdade e autonomia. Por que ele acreditou nisso com tanta facilidade? A resposta de Nietzsche é genial. Ele retoma a crítica humiana do eu e a aplica ao caso. Ele diz que própria linguagem contém os elementos necessários para colaborar com a tese do fraco. Ela, a linguagem, é dotada de sujeito, e imaginamos que a ação não pode ser desempenhada se não houver um ponto fixo no qual ela tem de estar agarrada; e esse ponto é o sujeito.
O mecanismo para explicar isso, como Nietzsche o utiliza, é o de apontar para frases que, no português, chamamos de sujeito oculto. No livro Genealogia da moral, Nietzsche pergunta: em uma frase como "Troveja.", quem troveja? O trovão troveja? É claro que não, ele responde. O sujeito não é necessário, a ação se basta. Quando o sujeito aparece na frase, ele é um dispositivo gramatical tão histórico e contingente quanto a própria linguagem. Mas, da maneira como a linguagem está estruturada, o sujeito enquanto partícula gramatical tem sua força. E assim, não é difícil inflá-lo: não só o lemos como um elemento gramatical necessário, como ampliamos sua capacidade, tirando-o da condição de elemento gramatical e falando de sujeito como uma entidade com estatuto ontológico e, depois, metafísico mesmo. Foi possível convencer o forte de que a liberdade existe à medida que ela seria algo inerente a ele próprio, forte, se ele agisse como aquilo que de fato é, ou seja, um sujeito. Ele poderia comandar sua vontade. Ora, o forte acreditou nisso. Este teria sido o passo errado. O passo complicado de todo o Ocidente.
Jogando com essa filosofia da história contra a noção de sujeito, Nietzsche acreditou ter dado um bom golpe não só nessa noção, mas também na ideia de verdade, crivada pela noção de certeza do Cogito cartesiano. Afinal, se o sujeito não existe, o que se estaria fazendo ao torná-lo como "ponto arquimediano" do projeto de sustentação da árvore do conhecimento, como fez Descartes? O que se estaria fazendo, especialmente na modernidade, era o caminhar de falcatrua em falcatrua.
Os filósofos modernos, ao menos até Kant, se dividiram em empiristas e racionalistas. A filosofia contemporânea ganhou uma divisão bem mais rígida, conhecida pela distinção entre os trabalhos dos filósofos analíticos e o dos filósofos continentais. Essa terminologia se fez presente à medida que Bertrand Russell e Moore, ambos de língua inglesa, chamaram a atenção do mundo acadêmico para o modo como ambos faziam filosofia - a filosofia analítica.
Mas a filosofia analítica não nasceu propriamente como uma filosofia da Grã-Bretanha, ou seja, "da ilha", colocando em contraponto todas as outras correntes, as filosofias que deveriam, então, assumir como as "do continente". Ela nasceu propriamente com Frege e se desenvolveu considerando também vários filósofos de língua germânica. Todavia, foi nas universidades britânicas que a análise se tornou uma prática filosófica hegemônica. Além disso, vários dos filósofos analíticos migraram para os Estados Unidos, fugidos do nazismo, e então, de fato, a língua inglesa se tornou o campo fértil para a filosofia analítica. Uma vez na América, o movimento analítico em parte se fundiu com a escola pragmatista, a filosofia nativa da América, e em parte a submeteu ao seu regime de trabalho.
Os alunos menos propensos a gostar de lógica tendem a fugir da filosofia analítica, ainda que a lógica necessária para compreendê-la seja rudimentar. Todavia, esses alunos, não raro, mostram-se mais inclinados a ver na filosofia uma aliada da literatura. Então, parecem se adaptar melhor ao modo de conversação da filosofia continental. O professor não deve perder a oportunidade de convencer esses alunos da beleza da filoso fia analítica. Entretanto, o professor não deve se esquecer que alguns estudantes começam a acreditar, não sem uma dose de ingenuidade, que se ficarem na filosofia continental somente, irão apenas fazer história da filosofia, não poderão filosofar. Imaginam, então, que a filosofia, enquanto trabalho atual, só seria produtiva como filosofia analítica. Nesse caso, o professor deve lembrá-los que a ideia de chamar toda a filosofia continental de "mera ideologia" é tão pouco inteligente quanto a ideia de chamar a filosofia analítica de "árida" e "pouco atraente".
Um bom professor de filosofia deve transitar em ambos os campos e deve conquistar seu estudante para tal movimentação. Aliás, a essa altura, tendo como assunto já a filosofia contemporânea, se o estudante não se convenceu dessa necessidade de saber transitar entre analíticos e continentais, deve começar a se preocupar seriamente com a sua formação passada.
No início do século XX, Nietzsche não era lido como filósofo e sim como literato. Mas essa situação foi se alterando rapidamente no decorrer do século. Alguns interpretaram Nietzsche como criando um novo modo de filosofar, quase que uma espécie de nova cosmologia. Outros o tomaram como metafísico. Seria uma espécie de último metafísico mas, ainda assim, metafísico.
Martin Heidegger (1889-1976) viu em Nietzsche aquele que tentou dar combate ao platonismo e, portanto, à metafísica tradicional. Mas, para Heidegger, Nietzsche não teria ultrapassado a metafísica, uma vez que várias de suas noções pareciam reproduzir o esquema filosófico moderno. Não se tratava apenas de olhar com desconfiança para as noções de vontade de potência e de forças, mas também para a própria noção de sujeito, que parecia perdurar na obra de Nietzsche por meio da figura do corpo. Independentemente de se avaliar se Heidegger foi ou não feliz nessa sua leitura de Nietzsche, vale destacar que foi por meio dela que ele se pôs a tarefa de encerrar a metafísica, criando o que seria um autêntico filosofar.
Seguindo essa sua missão, Heidegger passou a criticar tanto a metafísica tradicional quanto o positivismo. Por metafísica, Heidegger entendia o que havia sido expresso em dois grandes paradigmas da filosofia ocidental, o de Platão e o de Descartes. Quanto ao positivismo, ele o viu nos moldes do positivismo lógico do Círculo de Viena. Nos dois casos, muito de seu programa de indisposição contra tais escolas reproduziu ataques nietzschianos.
Heidegger não ficou somente na crítica da metafísica e do positivismo. Ele estava convencido da necessidade de fornecer uma saída para os impasses da filosofia ocidental - denunciados por Nietzsche -, que nada seriam senão frutos dos rumos postos por essas duas grandes tendências do pensamento moderno. A filosofia autêntica teria de escapar do modo moderno de pensar. Deveria reinventar o pensamento capaz de "desvelar o ser" - o que é. A história da filosofia como história da metafísica nada contaria senão um percurso de inúmeros filósofos que produziram o "esquecimento do ser". Escapar disso implicava, segundo Heidegger, o revigoramento da ontologia.
Heidegger viu na metafísica, segundo o modelo platônico-cartesiano, a origem do pensamento dualista. A clássica distinção entre o real e o aparente, estampada da divisão platônica entre mundo inteligível e mundo sensível, teria tido sequência, na modernidade, pela dicotomia sujeito-objeto. Os modernos, imaginando libertarem-se da metafísica - e este era o ideal positivista - teriam sucumbido a uma nova forma de metafísica, aquela do projeto cartesiano, protagonizada pelo "eu penso", a certeza do Cogito. Heidegger chamou a metafísica moderna de metafísica da subjetividade.
Tendo assumido o sujeito como o substrato, o que subjaz a tudo, a modernidade definiu o objeto não só como objeto para um sujeito, mas como o que se mostra sobre um palco que é, enfim, o sujeito. Na modernidade, essa ideia de sujeito e essa forma de relação entre sujeito e objeto teriam se acoplado ao Humanismo. Assim, o sujeito foi assumido como o homem, e o objeto como o mundo. Tudo seria para o homem, então transformado em palco do mundo e legitimador do que existe. O que existe não existiria por si, mas, uma vez objeto, existiria apenas para o homem-sujeito e no homem-sujeito. O mundo seria não o que se faz presente, mas o que é representado em um palco cujo nome não poderia ser outro senão "o homem". O mundo teria se transformado, então, em concepção do mundo ou imagem do mundo.
Considerando que o que ganha a propriedade de existência o faz à medida que é reapresentado pelo homem, o existente torna-se, então, passível de manipulação pelo homem. O mundo e o próprio homem nele são transformados em objetos - em algo manipulável. O homem torna-se o manipulador do homem.
Por essa linha de pensamento, não é difícil, então, encontrar as três consequências assumidas por Heidegger como centrais no retrato da modernidade nos campos filosófico, cultural e da vida cotidiana. Na filosofia, a hegemonia da epistemologia; na cultura, o domínio da ciência; no cotidiano, a preponderância do saber tecnológico.
O pensamento filosófico, uma vez reduzido à epistemologia, teria a pretensão de estabelecer uma teoria para descrever como o homem descobre ou produz o saber, o que nada seria senão a forma de redução da filosofia ao esquema sujeito-objeto, cujo resultado seria a reprodução do esquema manipulativo. A cultura, uma vez transformada em cultura científica, forçaria todos a valorizarem o saber metodológico sobre outros tipos de saber. Os procedimentos ganhariam força maior que as metas. A vida cotidiana, então conduzida pela tecnologia, terminaria por ver tudo em termos de recurso o que "rende" e o que "não rende". Nós mesmos nos veríamos assim. Pela educação, principalmente, procuraríamos nos transformar em elementos mais habilidosos para servir como recurso - "recursos humanos" -, tais como os objetos a nosso redor. Nosso propósito se ria o de nos fazer passíveis de troca. Um propósito que pudesse ser chamado essencial, isto é, imanente às entidades do mundo, desapareceria, à medida que nós e todas as coisas do mundo, simplesmente, passássemos a pertencer ao campo da circulação dos objetos, imposta pela tecnologia.
Com a fenomenologia que aprendeu de Edmund Husserl (1859-1938), Heidegger quis escapar desse mundo em que nosso encontro com as coisas e conosco nos faria manipuladores e, assim, dominadores e dominados ao mesmo tempo. A manipulação e a dominação implicariam violência física, inclusive. Essa violência teria um corpo bem determinado: a cabeça seria formada pela filosofia, como epistemologia ou "metafísica da subjetividade"; o coração seria a ciência; as mãos, a tecnologia. E pior: a violência não seria ilegítima, uma vez que tudo teria se transformado em peça, em recurso, em coisas que rendem ou não rendem. E tudo que é recurso, coisa, poderia ser violentado sem grandes reclamações.
De que modo a fenomenologia tiraria aquele que opta por ela dessa condição da vida moderna, a "vida inautêntica"?
Heidegger propôs que percebêssemos que a filosofia como epistemologia, a cultura como Humanismo e a ciência como tecnologia poderiam ser deixadas de lado, para que voltássemos a conviver com o que perdêramos: o ser - aquilo que é e que se mostra, e não o que é representado. Como fazer isso? A filosofia, que retoma a linguagem e dá a atenção necessária a ela, deveria apontar um caminho para a emergência da "voz do ser".
A filosofia poderia se voltar para a linguagem, mas de um modo completamente diferente do que estaria sendo ensinado pelos filósofos analíticos ligados ao positivismo lógico. Nenhuma análise da linguagem daria bom fruto. Não teríamos de reduzir a linguagem para que ela, resumida a um código simples, pudesse ser colocada em paralelo com o que seriam as sensações, para então obter o suposto "contato real com o mundo" - este seria o projeto do positivista; o projeto inimigo de Heidegger.
Teríamos de voltar a experienciar a linguagem segundo o que se manifesta, segundo o fenômeno da linguagem, de modo a deixar aquilo que é - o ser - se fazer presente em sua morada. Deveríamos deixar a linguagem se mostrar como é; como o que fala para nós e por nós, e não o que é falado segundo nosso comando de pretensos sujeitos. Um exercício simples pode levar ao entendimento do que Heidegger planejou para escapar da condição moderna e deteriorada em que estaríamos vivendo.
Por exemplo, olhe para determinada paisagem e comece a descrever o que vê. Perceba que cada coisa que enuncia - carro, árvore, cachorro - não indica uma experiência efetivamente sua, deliberada, nascida entre você e o enunciado. Perceba que cada palavra enunciada já estava dada antes, criada e estabelecida significativamente em uma rede de outras palavras, ou seja, a teia de tudo aquilo que você aprendeu como semântica e sintaxe, que dão o norte, o rumo, o conteúdo do que se pode fazer ao falar do que se fala. Com um pequeno esforço, poderá notar que a paisagem e cada um de seus elementos podem não ser percebidos como nomes fornecidos por você e, por isso, prenhes do que é pré-dado por você; a paisagem (e tudo nela) pode emergir como o que efetivamente é. A linguagem é essa rede anterior a você que, se ouvida sem o que se enfia nela de pré-dados, o fará escutar o som originário, a voz do que efetivamente é.
A experiência fenomenológica pode ocorrer se você ouvir a linguagem. É ela, a linguagem, quem realmente fala, e não você que fala com ela. Nela, na linguagem, há a experiência originária - mas, se você não a escuta, não pode viver tal experiência. Não se trata de experiência autêntica se, em vez de escutar a linguagem, escutar apenas a si mesmo falando. A experiência fenomenológica mostra que caímos na linguagem, que fala por nossa boca. Não enxergamos nada do que pensamos enumerar e descrever, pois o que efetivamente ocorre é a linguagem falando. Então, é melhor prestar atenção a ela e, com sorte, ouviremos o que é - o ser que se manifesta em sua morada, a linguagem.
Quando a experiência fenomenológica se faz, tomamos consciência do que é "ver" e "escutar". Passamos a prestar atenção no modo que realmente vemos. É isto o que ocorre: olhamos para a janela, mas não vemos o que a ciência diz que vemos e o que imaginamos que seria uma experiência. Vemos a luz? Não! Vemos uma coisa. Mas que coisa? A ciência diz que a luz, por meio de ondas, atinge algo e, então, pega nossa retina - e assim vemos o que está diante de nós e emitimos um som com o qual damos nome àquela coisa. É isso? É assim que temos de descrever o mundo e assim poderemos viver nele? Nada disso. Isso é o conto da ciência, não a manifestação do que é. Não vemos a luz ou as ondas. A coisa que vemos somente se delimita e ganha contorno e, assim, recebe algum significado, por já estar prenhe de significado na teia da linguagem, e de modo algum somos nós os autores (conscientes) do significado que repousa na linguagem.
Em uma experiência autêntica, além do que a ciência ensina que é a experiência, vemos coisas que são o que são por estarem se manifestando como som emitido pelas palavras; ou seja, ela própria, a linguagem, usando nossa boca, nos fala e fala para todos - nela, em sua rede, há o significado e, então, o som se faz som, palavra. Temos a capacidade de ouvi-la? Essa capacidade de ver o fenômeno da linguagem, nessa dimensão profunda que escapa ao modo moderno de conversar (e que implica o sujeito/objeto e a representação - e daí para diante a conceituação, inclusive a da ciência), é que se faz presente o método de Heidegger. Foi isso que, em boa medida, ele propôs como filosofia.
Boa parte dos filósofos da escola de Frankfurt agiu como Heidegger diante da modernidade. Eles também buscaram uma via que pudesse levar a filosofia a ultrapassar a metafísica e o positivismo. Aliás, de um modo muito semelhante ao de Heidegger, avaliaram o mundo moderno como envolvido em uma névoa de culto à tecnologia. Também eles foram taxativos na condenação dessa situação. Todavia, acreditaram que o caminho de Heidegger - a volta para a "escuta do ser", buscando a experiência originária da linguagem - seria uma traição para com os ganhos do Iluminismo. A ideia de colocar os ouvidos em favor da escuta do som do ser estaria comprometida com o esvaziamento da noção de sujeito. Ora, no programa do Iluminismo não há como abdicar das prerrogativas conquistadas pelo indivíduo autônomo. Sabe-se bem, o indivíduo autêntico é uma das formas de denominação do sujeito. Uma das suas principais prerrogativas é a de comandar os processos todos que se colocam ao seu redor ou, então, o de ser autor dos processos, situações e elementos que estão em seu meio. Nessa tarefa, o indivíduo enquanto indivíduo autêntico, ou seja, enquanto sujeito, é aquele que age com "consciência dos pensamentos e responsabilidade pelos atos".
Segundo os frankfurtianos, o programa dos iluministas e, de certo modo, o projeto moderno, deveria ser criticado tendo em vista que teria se tornado caolho, incentivando apenas um tipo de racionalidade - a executada pela razão instrumental. Uma racionalidade desse tipo, cujo objetivo é apenas encontrar os melhores meios para que os fins sejam realizados, sem uma avaliação reflexiva e crítica a respeito dos fins, diminuiu o espectro de atuação do indivíduo. Fez dele não um indivíduo autêntico, um sujeito. Pois, quando a busca dos meios sem a discussão dos fins é levada a cabo, o executor não pode ser tomado como quem, em toda a extensão de suas possibilidades, agiu como "consciente de seus pensamentos e responsável pelos seus atos". Dessa forma, o executor não se comporta como sujeito pleno. Assim, a modernidade estaria reduzindo e invalidando o sujeito. Segundo os frankfurtianos, "ouvir o ser" e abandonar a utilização da noção dicotômica sujeito-objeto não seria um bom caminho da filosofia, mas, ao contrário, seria um completo desastre, uma forma de compactuar com a modernidade em todos os seus males. O remédio fornecido por Heidegger aprofundaria a doença em vez de atenuá-la, uma vez que esse remédio já faria parte da própria doença. Buscar o ser e deixar de lado o sujeito seria nada mais, nada menos que dar força à condição caolha da modernidade, a de deixar vigente, no cotidiano, uma razão incompleta, uma racionalidade problemática.
Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973), os principais expoentes da Escola de Frankfurt, escreveram um livro denominado Dialética do iluminismo. Alegoricamente, o livro nos mostra a história da razão ocidental como um processo em que cada movimento filosófico da história da cultura toma para si a tarefa de desmitologização do pensamento. Isso é feito à medida que cada doutrina acusa a doutrina antecedente (a palavra antecedente, no caso, não deve ser entendida em sentido cronológico) de conter elementos ainda não completamente depurados de mitologia, na medida em que prenhes de pressupostos metafísicos.
No livro em questão, Adorno e Horkheimer mostram a miséria da modernidade centrada na maneira como a razão teria se configurado. Eles explicam esse processo por meio de uma dialética da razão e por uma proto-história da subjetividade. A seguir, expõe-se essas duas formulações.
A dialética da razão dos dois frankfurtianos mostra uma disputa entre a "razão subjetiva" e a "razão objetiva". A razão instrumental é denominada subjetiva, isto é, a própria razão finita utilizada pelo homem como indivíduo. Nada faria além de buscar os meios mais rápidos e eficazes para atingir fins, deixando de lado a avaliação dos fins. Então, a avaliação dos fins não mais ocorreria? Não teríamos de ter uma razão objetiva, capaz de trazer à baila as determinações necessárias e universais e não somente as determinações daquele que opera sobre, momentaneamente, alguma coisa, e quer encerrar sua tarefa com menos custos possíveis? É claro que uma razão assim, objetiva, teria de ser evocada. Todavia, a vitória do Iluminismo foi uma vitória contra essa razão. A razão objetiva foi preterida por obra de uma acusação legítima, a de ser um arauto do autoritarismo contra as liberdades e desejos do indivíduo.
Em termos de disputas de escolas filosóficas, essa filosofia da história de Adorno e Horkheimer mostram os sistemas de razão objetiva, como os de Platão, sendo derrotados por sistemas de razão subjetiva, como os que eles passam a enxergar no pragmatismo de John Dewey, por exemplo.
Segundo esse tipo de filosofia da história, os destinos da razão no Ocidente estão configurados buscando escapar do autoritarismo da razão objetiva, já que a modernidade teria se realizado como o império da razão instrumental. Tal império nada seria senão a condição vigente, de predomínio das ativi dades de cálculo sobre quaisquer outras. A tecnologia e a vida sob constante e crescente administração seriam o produto de tal tipo de concepção vigente de racionalidade. Sendo assim, não poderíamos mesmo ver o homem senão como um objeto, isto é, uma coisa a mais no mundo, podendo, então, ser efetivamente tratado como coisa. A manipulação e a violência seriam as consequências naturais de tal situação.
De modo algum poderíamos abandonar a perspectiva de colocarmos como sujeitos no mundo, senhores de razão - isso deveria permanecer em nosso horizonte mesmo que apenas como utopia. A Escola de Frankfurt concordou com Heidegger no sentido de que estaríamos vivendo na "experiência inautêntica". Na terminologia frankfurtiana: todos nós vivemos sem a possibilidade de alguma experiência, pois nos deixamos reificar (ou coisificar). Teríamos aceitado nos transformar em coisas por imposição de nossa organização social e cultural. Mas a tarefa da filosofia, segundo os frankfurtianos, não deveria ser a de escutar a linguagem e fazer submergir o sujeito - este seria o projeto de Heidegger, que, segundo eles, levaria a uma maior dominação e não ao fim da dominação e da violência. A tarefa da filosofia seria voltar à história do pensamento para explicar cada passo da razão no caminho que a transformou em razão instrumental. Eis a esperança desesperançada dos frankfurtianos; talvez pudéssemos encontrar uma via para entender como outras dimensões da razão, no decorrer da formação do indivíduo moderno ou do sujeito, se perderam.
Das três dimensões da razão - eros, cronos e logos - teríamos ficado apenas com a dimensão do cálculo, o logos; deveríamos investigar esse caminho de perda e desvio. Os frankfurtianos acreditaram que haveria algum ensinamento nessa busca pela perda de rota da razão. Seria necessário saber como montamos a subjetividade moderna da maneira como o fizemos, e não exclusivamente condená-la, como teriam feito Nietzsche e Heidegger.
Assim, o livro, Dialética do Iluminismo, expõe a história da razão acoplada à proto-história da subjetividade. Nessa narrativa o homem se torna racional, mas o faz de um modo perverso - para com o outro e para consigo mesmo. Buscando se livrar rapidamente dos mitos, que criam um mundo que alimenta a imaginação e os pesadelos, o homem vai se transformando em sujeito racional por meio de estratagemas. Essa alegoria da "proto-história da subjetividade" é contada por meio de uma magnífica leitura da história de Ulisses de volta da Guerra de Troia para sua Ilha, Ítaca, o conteúdo da Odisséia, de Homero.
No percurso da viagem, Ulisses se encontra com várias das potências míticas e, para se safar delas, cumpre tudo que elas propõem, que nada mais é que o ritual de adoração que cada mito exige de cada mortal. Todavia, a maneira como ele cumpre o ritual é totalmente formal. Obedece aos rituais, mas apenas como protocolos burocráticos. Portanto, já como um sujeito protorracional. Mas essa racionalidade é não outra senão a dada por um logos monstruosamente ampliado pelo fato de não saber mais agir senão pelo cálculo do estratagema. E eis então que, ao final do processo, o homem ultrapassou todas as potências míticas por meio de vários engodos. Quando termina a viagem, Ulisses é o indivíduo moderno racional - mas munido de uma racionalidade que não é outra senão a racionalidade instrumen tal. Ora, mas haveria chances de ele ter feito a viagem que fez de outra maneira? Não. Desde o início, ao preparar o primeiro estratagema contra a primeira potência mítica que teve de enfrentar, exatamente por acreditar que deveria obedecer o mito apenas formalmente, ele já estava sob os desígnios de uma protorracionalidade. Caso não, ele simplesmente teria sucumbido ao ritual da potência mítica em questão, encerrando a viagem.
O homem promove, assim, o processo que Max Weber denominou de desencantamento do mundo. Nesse processo, o homem se faz sujeito racional. Todavia, o racional, nesse movimento, cai sob um destino, o de hipertrofia da racionalidade técnica e instrumental. Deixa eros (o amor) e cronos (o tempo) para trás, manuseando somente a habilidade de se aproveitar do que garante sua sobrevivência.
Após terem mostrado essa criativa história da razão e do sujeito, Adorno e Horkheimer viram que contaram algo que não poderia ser contado de outra maneira. Falaram por alegorias e metáforas. Por quê? Por causa da denúncia de Nietzsche: "não há fatos, só interpretação". Essa denúncia, na filosofia frankfurtiana, transforma-se na conclusão do processo chamado "dialética do Iluminismo".
A "dialética do Iluminismo" é um processo autofágico incessante. Cada doutrina denuncia a anterior como mitológica ou metafísica, o que, em certo sentido, é a mesma coisa. Mas, em um determinado momento, há de se pensar: como é possível para uma nova doutrina - inclusive a deles - denunciar a doutrina anterior, chamando-a de ideológica ou mitológica ou mistificadora, e então ficar livre, ela mesma, de adquirir poder sobre outros por ter levado adiante o processo de desmistificação? Não é conferido poder a quem desmistifica? Esse ganho de poder não teria sido o real objetivo de quem denuncia seu opositor como não estando em busca da verdade, mas apenas do poder? A própria condição de denunciante não é um mecanismo de conquista de poder? E não seria esse mecanismo, talvez, tão mistificador quanto qualquer outro? Não estariam eles próprios envoltos ao maquinário da desmitologização denunciado na filosofia da história do Dialética do Iluminismo?
O resultado dessas perguntas, ao final, é que toda e qualquer posição teria como destino a perda de sua legitimidade inicial. A questão posta pela Escola de Frankfurt, então, foi a seguinte: como filosofar, escapando da metafísica, sem cair na vala comum das doutrinas que se apresentaram na história da razão ou na dialética do Iluminismo?
Uma das maneiras de a filosofia se livrar do problema foi usada no próprio livro de Horkheimer e Adorno, o Dialética do Iluminismo. A história do pensamento ocidental não é analisada para mostrar a verdade da história, mas como uma alegoria para nos fazer pensar. Essa foi uma das vias do trabalho dos frankfurtianos, que também se empenharam em outra maneira de filosofar. Qual?
Adorno e Horkheimer adotaram uma estratégia poderosa, a saber, a de voltar contra cada filósofo (inclusive, é claro, contra eles mesmos) imortalizado pela história da filosofia seus próprios argumentos, para levá-lo a um impasse, gerando então o que a filosofia classifica, em seus dicionários, de quietismo: não se pode falar do mundo positivamente, apenas se pode falar so bre a impossibilidade dos filósofos de falar do mundo. O mundo deve passar pela crítica radical, negativa - e isso é tudo.
A ideia de que a filosofia não pode falar positivamente do mundo não era, para uma boa parte dos filósofos da Escola de Frankfurt, uma conclusão advinda somente de estudos epistemológicos. Isto é, a questão não seria importante única e exclusivamente por nos levar a girar em torno da tese "não há fatos, só interpretações" (Nietzsche), segundo uma ótica de estudos sobre o ceticismo e afins. A conclusão veio, também e principalmente, por sua faceta política, a do envolvimento do homem com o poder. Assim, no âmbito da disputa de poder, quem denuncia um discurso como ideológico, a fim de diluir o poder do emissor do discurso, acabaria, ao final, adquirindo poder sobre aqueles que são "esclarecidos" pela contraideologia, o que geraria então um círculo. Como sair desse círculo? Como sair de tal situação sem ter de usar do recurso da alegoria e da metáfora - um recurso visivelmente limitado - como se fez no livro Dialética do iluminismo.
Adorno e Horkheimer foram especialistas no trabalho de escrever a filosofia em forma de aforismos. Seus pequenos textos e ensaios tinham como objetivo levar o leitor a um impasse que, com sorte, poderia iluminar algo, mas que, ao final da leitura, anunciaria a autodestruição (lógica) do aforismo lido. Os melhores aforismos de Adorno e Horkheimer seguiram esse método. Cada qual se mostra, ao final da leitura, como exercício de autorrefutação. O livro Mínima moralia, de Adorno, é talvez a melhor obra escrita nesse estilo.
A cada aforismo, os argumentos de um filósofo, lançado contra ele próprio, também se voltam contra aqueles que escreveram o aforismo e que, de certa maneira, adotaram uma posição inescapável e circular, a de querer clarear o que haveria de ideológico na filosofia do pensador em questão. Levando essa atitude ao extremo, Adorno chegou a afirmar que a tarefa do filósofo era falar para convencer o outro de que ele, o filósofo, não tinha razão.
Outra dimensão mais positiva, mas ainda no interior da perspectiva da resistência à inescapável "condição moderna", foi adotada por eles com base em alguns aspectos da teoria de Freud.
Adorno e Horkheimer desenvolveram uma boa sensibilidade em relação à teoria freudiana. Absorveram de Freud as noções de repressão e sublimação, e lhes deram nova roupagem. A repressão seria o estágio pelo qual tendências de censura seriam impostas à criança - um estágio inicial. As energias (libidinais) das crianças teriam de ser canalizadas para que elas obtivessem satisfação em atividades culturais, não bárbaras, não reificantes e reificadoras. Ocorreria, então, a sublimação, a completa transformação das energias (libidinais) em motivações para o desenvolvimento da cultura. Uma pedagogia favorecedora desse processo deveria ser premiada. A falta de um processo educacional - não só escolar, mas social - capaz de levar as pessoas à sublimação, seria o responsável pelo fato de elas serem controladas socialmente por repressão. Uma sociedade assim, não raro, pode requisitar a repressão para sua sobrevivência.
Adorno e Horkheimer explicaram a personalidade autoritária e o comportamento dos nazistas, evocando tal teoria: eles, os autoritários e nazistas, teriam chegado à vida urbana de modo muito rápido e, por isso, foram violentados por uma série de circunstâncias vitais das grandes cidades, da vida moderna, da tecnologia, do movimento de massas e do trabalho industrial. Reprimidos nesse tipo de vida e humilhados por condições que não entendiam, sentiam-se rejeitados por não conseguir usufruir plenamente de uma situação moderna, na qual outros tinham sucesso. Aderiram então ao autoritarismo e aos chefes que lhes prometiam vingança contra tudo aquilo que identificavam como algozes. A vingança contra o sistema - o termo sistema, nesse caso, poderia ser lido como "os ricos", "os intelectuais", "os capitalistas"; todos os nomes dados aos judeus.
Heidegger e os frankfurtianos Adorno e Horkheimer escreveram antes e depois da Segunda Guerra Mundial. O tema da liberdade esteve subjacente aos escritos desses filósofo. Todavia, esse tema só ganhou preponderância em uma escola filosófica que ganhou força no Pós-Guerra, o existencialismo de Jean Paul Sartre (1905-1980).
Jean Paul Sartre foi um dos principais filósofos do século XX. Ele contrariou a tendência de desqualificação do Humanismo que encontrou em seu tempo, vinda da escola heideggeriana. Também em relação à noção de sujeito, ele tendeu a se manter muito mais próximo da filosofia moderna que seus parceiros de época. Todavia, como a maioria, procurou filosofar sem pressupostos metafísicos fortes. Contra o essencialismo, ele advogou o existencialismo.
Sua escola, a do existencialismo, foi algo tão ou mais amplo quanto o movimento intelectual da Escola de Frankfurt. Em determinado período do século XX, os mais diferentes e divergentes filósofos se afirmaram existencialistas. A ideia básica do existencialismo de Sartre era a de que "o homem está condenado à liberdade". Assim, nada poderíamos fazer, ao ter de tomar qualquer decisão, senão criar ou inventar nossa própria saída para nossos impasses, exercendo, assim, a liberdade e responsabilizando-nos pelas consequências de nosso ato. Nada viria em nosso auxílio para nos eximir, depois, da responsabilidade da decisão que tomamos. Nada teria ofuscado nossa liberdade, pois esta seria a única coisa efetivamente obrigatória em nossa vida. Todos os nossos atos - linguísticos ou não - seriam de nossa responsabilidade, e de mais ninguém.
Uma compreensão errada do existencialismo que, não raro, esteve presente na história da filosofia do século XX, foi a de evocar atenuantes de toda ordem para dizer que o homem não age livremente como Sartre afirmava. Mas, a liberdade sartreana não pode ser atenuada, uma vez que não foi pensada no contexto de influências psicológicas, históricas e ideológicas que, de qualquer maneira, transformariam o homem em fantoche. Todas essas barreiras, limitações e condições não podem ser evocadas porque nenhum homem consegue não exercer algo que é elemento central da liberdade: a decisão. Um exemplo: você pode decidir algo que lhe seja ruim ou bom, mas jamais será capaz de não decidir (não decidir é decidir não decidir, lembre-se). Uma vez feita a opção, ela cria uma trilha, um rastro, um tipo de "jurisprudência". Daí para diante, todo homem pode fazer referência à opção que você tomou para melhor ponderar suas próprias escolhas.
Para Sartre, não existe nenhuma essência humana, segundo a qual agiríamos ou não (sendo que a não ação é uma ação). A única condição humana seria a de estar no mundo, de existir. Uma decisão X, então, estabeleceria uma projeção do homem (que tomou a decisão) no mundo. Sua existência seria projetada no mundo e ofereceria uma via a mais para a humanidade caminhar - a via aberta ou reaberta de X. Todos os homens, então, teriam sido redefinidos. O senso comum não existencialista diria: o homem é aquele que, por natureza, toma (entre outras) a decisão X. E o existencialista diria: o homem é aquele que decide e, se um deles decidiu por X, mais um caminho está aberto para a humanidade.
Outro exemplo: você está em um ônibus e seu ponto de descida está próximo. Nesse momento, um malfeitor entra no ônibus e você percebe que o ambiente, ali, vai se deteriorar. Sua pressa para descer aumenta. Quando o ônibus se aproxima do ponto, você nota que lá fora há uma confusão entre policiais e ladrões e um grande tiroteio. Descer ali seria altamente perigoso e, enfim, ficar também não seria nada bom. Pois bem, como decidir? Ficar? Descer e correr? Descer e ir para a esquerda, onde parece estar mais calmo? Ou descer e ir para a direita, onde, apesar das atribulações, está a polícia? Ou simplesmente não descer? Nessa hora, o que ocorre é que você vai decidir - ninguém fará isso por você. Você não pode dizer que são as circunstâncias que decidem por você, pois isso seria imaginar que, em algum momento, você existiria sem circunstâncias. Ora, mas existir sem circunstâncias é impossível. Existir é estar no mundo sempre em circunstâncias. Assim, não há escapar de decidir. Feita a escolha, sua vontade, sua tomada de posição se faz presente no mundo, é projetada nele e abre uma via pela qual o mundo passa a ter um acontecimento a mais. Para o mundo, um fato; para você, uma situação que lhe trará consequências; para a humanidade, uma via a mais para caminhar.
Não importam mais quais são as consequências, após a decisão, pois você deve arcar com elas. Fez uma escolha e, fazendo a escolha, exerceu sua liberdade. Exerceu a liberdade como quem não tem outra saída senão optar e exercer a liberdade. Não há como culpar as circunstâncias e dizer "não escolhi, segui o caminho do mal menor". Pior ou melhor, a decisão foi sua. Não haveria sentido imaginar decisões sem circunstâncias, piores ou melhores. Se assim fosse, não haveria mundo, nem existência alguma. Se você pudesse optar e no ato de optar mudar as cir cunstâncias, não estaria optando nem se encontraria em uma situação vital e natural; estaria, isso sim, num mundo mágico. Se a cada opção pudesse mudar as regras do jogo, ou seja, alterar o mundo, a vida não ocorreria. Se assim fosse, não valeria falar em liberdade ou em opção ou em decisão; não estaria ocorrendo nada, não haveria o plano da existência, isto é, o plano no qual ocorre a vida e todas as suas regras.
A doutrina humanista que Sartre abraçou, portanto, era bastante diferente do Humanismo dos modernos. Para Descartes e Rousseau, o homem tinha, sim, uma essência. A razão lhe era inerente. Para Sartre, as determinações do homem não seriam dadas por nenhuma essência, nenhuma instância metafísica, mas somente pela existência. E a existência seria, enfim, viver e estar sob a condenação de ser livre.
Sartre nunca pensou em uma noção de liberdade que não fosse exatamente esta: a liberdade só se faz presente no momento da decisão. Não há o "espírito da liberdade". A liberdade é o ato de decidir, de negar uma possibilidade e afirmar outra. Esse ato consubstancia a liberdade; não importa para qual lado a decisão penda, o ato que faz a própria liberdade ocorrer é o de decidir. Terminado o ato, a liberdade desaparece novamente, para ressurgir no ato seguinte.
Em termos de engajamento político e militância social, Michel Foucault (1926-1981) esteve ao lado de Sartre em várias campanhas. Todavia, quando às suas inclinações teóricas, Foucault foi um leitor impressionado com Nietzsche e Heidegger. Ele herdou de ambos a preocupação com a noção moderna de sujeito. Foi sensibilizado pelo questionamento nietzschiano da modernidade, em especial sobre as relações entre verdade e sujeito, do modo que foram postos pelos modernos e observados pelo olho de Nietzsche. Inspirou-se na ideia heideggeriana de acoplamento entre subjetividade e homem e nas relações que o alemão havia tirado para os questionamentos do Humanismo. Dessas fontes vieram seus melhores insights. Sua filosofia se tornou original à medida que resolveu antes fazer a história do sujeito que confiar na subjetividade, como fizera a filosofia moderna, como instância de garantia da verdade.
Como Nietzsche, Foucault adotou como um de seus pontos iniciais de investigação a figura de Sócrates. Na filosofia do ateniense, estariam os indícios iniciais e básicos que poderiam conduzir o pesquisador a encontrar as razões pelas quais a modernidade havia se configurado do modo que se configurou.
Sócrates foi um filósofo que não se preocupou com metafísica ou epistemologia. Sua ocupação foi a de fazer perguntas morais. Essa visão sobre Sócrates é consensual entre os melhores scholars atuais que se dedicam ao mundo grego antigo. Todavia, ao mesmo tempo em que os filósofos endossam essa interpretação, isto é, a de que Sócrates é essencialmente um filósofo moral, não raro se esquecem de dar a importância necessária à frase "conhece-te a ti mesmo". Ou seja, não raro, a frase é assumida como uma expressão que diz respeito única e exclusivamente ao conhecimento, mesmo que se tenha declarado fé na interpretação que diz que Sócrates está empenhado, mesmo, não exclusivamente em qualquer tipo de discussão sobre o conhecimento em um sentido restrito, mas no saber que guia a vida, a conduta ético-moral.
O que é que Sócrates faz? As perguntas de Sócrates são do tipo "o que é F?", e se ele não tem respostas para elas, também seus interlocutores não se mostram mais capacitados. Pior: eles imaginam saber o que não sabem. Então, Sócrates diz que ao menos ele sabe que não sabe o que investiga; e as respostas que outros imaginam que poderiam satisfazer suas perguntas, não são suficientes. A sua peregrinação por Atenas e suas perguntas alimentariam o que ele precisaria para levar adiante "o conhece-te a ti mesmo". Notando a peculiar ignorância dos outros, ele qualifica a sua própria ignorância. Sim, e isso que sempre dizemos de Sócrates! Mas, uma leitura desse tipo a respeito da atividade de Sócrates, acaba por negar o que no início foi aceito. Sócrates é um filósofo moral, então não deveria ser muito correto tomar a frase "conhece-te a ti mesmo" como uma frase interessada em uma questão a respeito do saber de si. Foucault esteve atento para isso.
A leitura de Foucault a respeito de Sócrates se desenvolveu principalmente em lições próximas ao final de sua vida. No Curso do College de France, ele diz que o "conhece-te a ti mesmo" só foi lido sob uma ótica excessivamente epistemológica na modernidade. O "conhece-te a ti mesmo" estaria relacionado, na época de Sócrates e na trama do que Sócrates fazia, ao seu trabalho exclusivamente ético e moral. 0 "conhece-te a ti mesmo", em Sócrates, segundo Foucault, estava subjugado ao "cuidado de si". Isto é, o conhecer de si teria sido adotado por Sócrates no contexto dos preceitos da construção do eu, nas regras para a vida correta, na preocupação com a alma, nos modos de prestar atenção em si mesmo e exercer com sabedoria o autogoverno.
Foucault diz que é com os tempos modernos que a interpretação do "conhece-te a ti mesmo" se desviou e, então, a frase foi tomada como expressando uma preocupação com o conhecimento objetivo do eu - a busca de sua verdade. Descartes associou o eu à busca da verdade e da certeza. Esse objetivo da filosofia cartesiana, que é a marca da modernidade, teria feito toda uma releitura da história da filosofia e, assim, também da filosofia socrática. Somente com a modernidade é que, então, teria havido a divisão radical que conhecemos entre filosofia prática e filosofia teórica. O erro na leitura da frase de Sócrates indicaria o modo como a modernidade distinguiu as duas faces do homem: de um lado, o homem é aquele que conhece e, de outro, ele valora e age. Agir e valorar são atividades diferentes do conhecer. Essa distinção moderna quebrou com a tradição antiga, vinda do "cuidado de si", da filosofia como uma construção da vida voltada para a felicidade e para a perfeição. A partir dos modernos, filosofia e ciência tentaram buscar antes avaliar o verdadeiro que ensinar a viver. Finalmente, desse modo, o "conhece-te a ti mesmo" se fez frase filosófica em um mundo em que fazer filosofia e ciência tinha por objetivo o conhecimento, desvinculado do agir correto ou errado. Para os modernos, o importante sobre o "si mesmo" é conhecê-lo, e o importante da filosofia é conhecer - eis então que o mandamento moderno é de encontrar o conhecimento, o que é verdadeiro, no nosso interior. O que é o nosso interior senão o que fazemos conosco mesmos? Ora, mas o que fazemos conosco mesmos, nos tempos modernos ou burgueses, senão o que está no recôndito do eu, isto é, o sexo. Eis o ponto de chegada: o eu em suas partes mais internas reserva a verdade.
Foucault ensina, portanto, a partir de Hegel, Nietzsche e Heidegger - todos os que descreveram a história da filosofia como uma espécie de história da subjetividade -, que tivemos de corromper uma específica maneira de fazer filosofia e, enfim, de produzir a cultura, para chegar ao ponto que chegamos. Paulatinamente, desprezou-se o Sócrates que nada escreveu e que privilegiou a conduta e, no seu lugar, passou-se a acreditar em uma completa mentira: Sócrates nada teria escrito, entre outras razões, porque tinha Platão para escrever por ele. Não raro, acredita-se nisso porque torcemos a filosofia de modo a torná-la uma estratégia do saber separado do valorar e do agir. Afinal, tudo na cultura nos arrastou para os tempos modernos, quando então viemos, de fato, a achar que ou a verdade está no âmbito subjetivo ou ela não está em lugar algum.
Esses estudos sobre subjetividade e verdade explicam, então, a preocupação de Foucault com o sexo e o corpo, ou seja, com elementos associados modernamente ao campo subjetivo e, neste, ao âmbito do seu núcleo, a intimidade. Abre-se aí, assim, todo um novo campo de investigação que foi consagrado como tipicamente foucaultiano: os estudos sobre poder, corpo e sexualidade.
Na tradição dos leitores de Marx e Freud, os frankfurtianos assumiram a modernidade como uma situação na qual o corpo e os impulsos apareciam como reprimidos ou sublimados - poucos poderiam dizer que haviam escapado de proibições de prazeres ou de acusações de ter comportamentos ditos não civilizados. Poucos poderiam afirmar ter passado ao largo de uma vida menos submetida a duras rédeas sobre o físico. Divergindo dessa visão, Foucault viu a modernidade marcada por uma nova relação dos indivíduos com o corpo e com os impulsos.
A modernidade, na visão de Foucault, denotou uma característica interessante a respeito do corpo. Teria havido uma suavização em relação a tudo que os indivíduos pensam sobre punições ao corpo e à liberdade corporal, mas isso não evocaria obrigatoriamente algo ligado à repressão ou à sublimação. Nada, na modernidade, mostraria certo desinteresse pelo corpo, fruto de uma reificação generalizada de tudo que é atinente ao corpo - operação médica, exposição do nu, dança erótica etc. Ao contrário, para Foucault, a modernidade podia ser descrita por meio de relações entre corpo e poder, segundo uma ótica de incentivo para o corpo e de interesse positivo pelo corpo.
Analisando o poder nos séculos XVII, XVIII e XIX, Foucault propõe, na sua História da sexualidade, que a modernidade seja caracterizada por uma "anátomo política do corpo" e uma "biopolítica da população". A primeira tem relações com as disciplinas, os procedimentos do poder que, a partir do "corpo como máquina", foram as responsáveis pelo seu adestramento, ampliação de aptidões, extorsão de suas forças, crescimento paralelo de sua docilidade e utilidade na sua integração nos sistemas de controles eficazes e econômicos. A segunda tem a ver com os controles reguladores. Aqui, as intervenções do poder olham para o "corpo-espécie" e se preocupam com as taxas de natalidade e mortalidade, os níveis de saúde, a duração média de vida. Esses dois procedimentos do poder caracterizam a modernidade como uma época em que "o velho direito de causar a morte ou deixar viver" - delineador do poder nas sociedades não classicamente modernas - sai da cena principal em favor do poder de "causar a vida ou devolver à morte". Assim, "anatomopolítica do corpo" e "biopolítica da população" revelam um poder exercido positivamente, desencadeador de forças que não têm como referência a morte (a punição, pelo direito do soberano de condenar à morte). O novo poder é um poder liberador de forças que se exercem em função da gestão da vida. A modernidade, como Foucault a mostra, é a época em que o poder investe no corpo vivo.
Em vez de acompanhar Max Weber, que apostou na aliança entre protestantismo e capitalismo para a produção de uma moral ascética capaz de colaborar com a engrenagem moderna, Foucault prefere usar sua própria terminologia, dizendo que a modernidade presenciou a "entrada da vida na história das técnicas políticas". Foucault não vê a modernidade como um local que poderia aceitar Aristóteles caracterizando o homem como "animal político". O homem moderno, para Foucault, veio a se manter, sim, como um animal, mas um animal com sua vida corporal, sua condição de ser vivo, como elemento que se põe no centro da política.
Assim, o poder não deve ser tomado como o que reprime, no sentido de empurrar de volta o que quer se desenvolver. O poder está associado à definição de tempos modernos em um sentido específico: atua para puxar o desenvolvimento, o novo, as forças positivas, a vida. Foucault não diz, com isso, que a modernidade é a época de supressão da dor, embora também lembre que muito da dor física, no sentido mais brutal do termo, é eliminado ou transformado. A modernidade, para ele, fez-se como maneira na qual seria possível ver o que se abre a partir dela. Quando tomamos a análise em que prevalece a noção de ideologia e de repressão, e em que tudo leva a crer que vivemos sob um poder que se exerce negativamente, para abafar potencialidades, então o futuro parece não existir. O futuro, assim, se é que pode ser vislumbrado, seria apenas sobra, resto - aquilo que ainda não teria sido esmagado pela repressão e redirecionado pela sublimação. Foucault devolve à história a noção de futuro.
Levando a sério a frase de Nietzsche "não há texto, só interpretação", Foucault colocou no horizonte da filosofia a pretensão de construção de um compêndio de todos os sistemas de interpretação. Em um opúsculo com o título Nietzsche, Freud e Marx, ele diz que a grande diferença da interpretação antes e depois desses pensadores é a que, depois deles, ocorreu uma modificação substancial do espaço em que os símbolos podem ser símbolos.
Nesse opúsculo, Foucault levanta exemplos para argumentar sobre sua tese. Mas o que ele efetivamente objetiva é mostrar que a partir desses pensadores a tarefa de interpretação se torna infinita. Não há e não pode haver a "interpretação final". Todos os três não interpretam outra coisa senão interpretações. Marx não interpreta a economia, mas a economia política que, por sua vez, tomava-se como natural. Freud faz interpretação de interpretações. Foucault lembra que Freud inventou o superego quando escutou de um paciente: "eu sinto um cão em cima de mim". Por sua vez, Nietzsche assume que a interpretação não só não tem fim, mas não tem começo. Não há origem na interpretação.
A partir dos três pensadores citados, Foucault diz que o símbolo se mostra não aquilo que deve ganhar uma interpretação para se justificar, mas, contrariamente, eles próprios já são interpretações que estão em busca de justificação. Os saberes de Marx, Freud e Nietzsche deslocam o espaço do que é ou não o símbolo exatamente nesse sentido: quando há um símbolo, o que lhe segue não é uma interpretação, mas uma interpretação da interpretação, uma vez que o símbolo já é, ele próprio, uma interpretação.
Esse clima intelectual, alimentado pela discussão sobre o jogo infinito das interpretações, esteve no horizonte de Jacques Derrida (1930-2004). Ele iniciou seus trabalhos no campo da corrente estruturalista em ciências humanas e filosofia e, por conta de seu próprio, a expressão pós-estruturalismo ganhou lugar de destaque na filosofia.
O ponto de partida do pensamento estruturalista pode ser encontrado nos trabalhos do linguística Ferdinand de Saussure (1857-1913), que contrariou as duas grandes tendências filosóficas modernas, a dos racionalistas e a dos empiristas. Diferentemente dos racionalistas, ele negou que o significado fosse dado por nomes fixados por essências; contrariando os empiristas, descartou a ideia de que o significado fosse originado por nomes dados segundo a experiência sensível. O significado seria função de sua posição em uma estrutura da linguagem subjacente e não imutável.
Cada objeto linguístico seria definido não a partir de elementos que lhe seriam inerentes e, sim, em uma relação negativa com outros objetos linguísticos, em um sistema. A linguagem seria um sistema de signos. Estes, por sua vez, combinariam sons e conceitos, relacionando-os por uma teia de convenções. O caráter convencional da relação interna entre os componentes do signo faria dele um elemento arbitrário. Sendo assim, o signo não teria essência e não apontaria para nenhuma finalidade, e estaria longe de ser o aval para a ideia platônica de conceitos universais, absolutos, dados pelas formas puras.
Esse antiplatonismo caracterizou todo o estruturalismo. Os chamados neoestruturalistas ou pós-estruturalistas radicalizaram o antiplatonismo dos primeiros estruturalistas. Ao recusarem a cristalização de dualismos, também deram suas costas ao positivismo.
Inspirado em Nietzsche e Heidegger, Derrida procurou atacar o platonismo alertando para uma característica da linguagem que teria envolvido e dominado a filosofia. Ao querer apresentar a realidade e o significado, a filosofia não teria percebido - ao menos se a entendermos como um discurso que sempre foi honesto - que teria se colocado em posição superior a outros discursos, mas sem grande legitimidade para tal. O discurso filosófico não seria superior ou inferior a outros discursos, escritos ou falados, como os da ficção e das ciências, e sofreria das vicissitudes de toda linguagem quando se dispõe a dizer o que são significado e realidade. Todo discurso, em tal tarefa, cairia em autodestruição - se desconstruiria.
Derrida afirmou - sem se importar com a acusação de que tal sentença é uma autorrefutação - que todo significado ou o que é (ser), ao se fazer presente, cria uma ausência. A ausência seria sua presença. Ou seja: quando alguém diz uma palavra, inúmeros significados implicados faltariam enquanto que inúmeros outros se sobreporiam. Um discurso se desenvolveria como algo vivo. O mesmo ocorreria com todos os enunciados, de modo que o conjunto ganharia vida própria à medida que não poderia não ser alterável por si mesmo. Essa sobredeterminação de significados ou o excesso de significado que todo discurso acumularia poderia ser notado quando se percebe que não é somente o contexto que determina o significado, mas, também, que o significado determina o contexto. Se assim é, todo discurso poderia terminar abandonando os princípios lógicos com os quais se inicia; o discurso se "desconstruiria" enquanto estivesse sendo construído. 0 discurso filosófico, que se pensa imune a isso, estaria tão sujeito a essa contínua alteração como qualquer outro e, por isso mesmo, as dualidades da metafísica - realidade/aparência, fato/valor, certeza/dúvida etc. -, por uma característica da própria linguagem, não fixariam o que pretendem fixar, estariam sempre em colapso, como quaisquer outras constelações instaladas em narrativas muito menos pretensiosas que as da filosofia.
Como a filosofia frankfurtiana, também a postura pós-estruturalista se apresenta negativa. O pós-estruturalismo, por isso mesmo, tem dificuldades de articulação com propostas doutrinárias. A filosofia de Adorno e Horkheimer ao menos guarda a possibilidade, que parece negada ao pós-estruturalismo, de uma atitude de resistência. Todavia, uma das facetas da filosofia de Derrida pode ser diretamente ligada a um projeto nitidamente positivo, inclusive possível de ser revertido para o campo político, comunicacional e educacional; trata-se da crítica ao mito da inocência presente na filosofia de Rousseau.
O mito da inocência, uma das bases da filosofia da educação moderna, é posto na berlinda pela maneira com que Derrida observa a linguagem.
Sócrates nunca escreveu nada. Platão, que escreveu, elogiou Sócrates por isso. A conversa e a linguagem falada seriam os melhores modos de nos comportarmos no exercício intelectual. Rousseau, por sua vez, manteve-se firme na proposta de condenação da escrita quando confrontada com a fala. A fala seria sempre uma maneira de aproximação dos homens e, ao mesmo tempo, um modo de não se deixar enganar, uma vez que pode ser corrigida no ato em que é emitida. A escrita, ao contrário, está sob regras que permitem subterfúgios. Uma frase do tipo "Feche a porta." é um pedido gentil e suave ou uma ordem raivosa e irritada? A escrita não revela isso; somente a fala pode ser mais transparente. Todavia, o problema seria outro, também levantado por Sócrates e Platão. A escrita limitaria muito a resposta e poderia, por isso, ser utilizada para a manutenção de determinadas estruturas de poder e hierarquia; a falsidade e a mentira estariam associadas, aqui, ao poder. A fala, instrumento não propriamente tão sofisticado da cultura quanto a escrita, seria então, de Platão a Rousseau, o elemento mais saudável. Rousseau, propenso a elogiar tudo que estivesse aquém do alcance da máscara social, e mais próximo da natureza original, ficou satisfeito com seu elogio à fala.
Esse elogio da atividade da fala e a consequente desvalorização da escrita esteve presente na antropologia rousseauísta de Claude Lévi-Strauss. Entre os índios brasileiros, ele recolheu o material necessário para fortalecer a tese central platônica-rousseauniana. A história é a seguinte: na troca de presentes entre índios e brancos, o cacique quis servir de intermediário. Pegou todos os presentes e uma folha de papel em branco. Então, fingiu ler os nomes dos índios e o presente indicado para cada um. Assim, conseguiu ficar com os melhores presentes. A conclusão do antropólogo, uma vez lida com as lentes de Rousseau, foi que o cacique mostrou quanto a escrita, instrumento da cultura, introduziria não só o erro, mas a desonestidade.
A leitura de Derrida a respeito do episódio é diferente. Ele levanta a seguinte hipótese: o cacique estava propenso a enganar seus subjugados desde sempre, e não apenas quando tomou conhecimento do instrumento de escrita e leitura do branco. Derrida lança mão, nesse caso, de seu passado estruturalista. Saussure levantara a tese de que a fala e a escrita têm a mesma base, que seria a de toda e qualquer linguagem: a de oposição. A linguagem seria um sistema de oposições. Uma palavra, para fazer sentido para um ouvinte, exige que ele tenha outros sentidos em mente já aprendidos e dispostos. É na oposição a essas palavras já dispostas que haveria o entendimento da próxima palavra. A escrita e a fala não se diferenciariam. A segunda não contribuiria para uma maior transparência. Não haveria na fala uma relação direta e imediata entre falante e ouvinte, como Rousseau gostaria. A fala e a escrita seriam mediadas, ambas, por quem as toma, pois é necessário evocar o sistema de oposições preestabelecido. Assim, no caso dos índios, tudo de que eles precisavam para pensar em enganar ou usar da violência já teria sido dado antes de qualquer um deles ter a ideia de enganar os outros usando a estratégia de fingir ler ou qualquer outra coisa do tipo.
À filosofia de Derrida e do pós-estruturalismo estaria implícita uma atitude de desmonte dos preceitos humanistas articulados ao mito da inocência originária, o mito da pureza natural gerada na infância e outras formulações do gênero - uma tese geral não só do Humanismo, mas do Romantismo.
Foucault e Derrida foram vivamente influenciados por Heidegger na sua forma de tomar a modernidade. Das mesmas raízes que Heidegger, mas levando suas investigações por uma forma especial de enfoque da linguagem e da interpretação, Gadamer refez o panorama da filosofia hermenêutica alemã.
A hermenêutica da qual Hans Georg Gadamer (1900-2002) se fez herdeiro estava prefigurada no final do século XIX com os trabalhos dos criadores do que ficou conhecido como ciências do espírito. Com esse título, as ciências do espírito nasceram dos trabalhos de Dilthey com o objetivo de lidar com as Humanidades de um modo próprio, e não segundo o que havia sido preconizado por Comte e Durkheim, na linha do positivismo sociológico francês. Este, como se sabe, tinha por objetivo lidar com as Humanidades a partir dos modelos metodológicos das ciências da natureza. Os hermeneutas foram por outro caminho. Eles deram alimento ao método do historicismo de Wilhelm Dilthey (1867-1893) e, depois de Max Weber (1864-1920), como o da compreensão, em oposição ao método de Émile Durkheim (1858-1917), o da explicação.
Segundo esse registro, a explicação observa causas, como o cientista as vê no mundo natural físico, ao passo que a compreensão persegue razões ou motivos, como o que um psicólogo ou um literato encontram no mundo natural, porém histórico - o mundo das ações humanas. Associada a esse segundo procedimento, a hermenêutica, assim, implicaria no exercício da imaginação, que teria de ser bem utilizada para que o estudioso se colocasse no lugar daquele que ele quer estudar: um pintor e suas obras do passado, ou um literato e seu livro do passado ou um filósofo e assim por diante. A objetividade das ciências do espírito seria diferente da objetividade das ciências naturais - seria uma objetividade compreensiva.
A ideia de estar presente no âmbito histórico do outro a que se quer analisar e estudar também é encontrada na fenomenologia, e foi adotada por vários filósofos, como Husserl e seu aluno, Heidegger. Gadamer veio dessa tradição.
A questão colocada por Gadamer era tipicamente hermenêutica, mas também e, talvez por isso mesmo, a mesma de várias escolas filosóficas do século XX: o que é o entendimento? Gadamer tratou da questão sem resumi-la a um método. Ele a tratou como uma questão essencialmente filosófica. Em parte, seu trabalho não foi outro senão o de colocar mais uma pedra na disputa sobre quanto haveria de legítimo na frase de Nietzsche, "não há fatos, só interpretação". Não haveria outra coisa senão interpretação, e elas seriam todas divergentes? Mas, então, como se daria o entendimento que, enfim, para muitos, é algo que só ocorreria se podemos ter interpretações comuns?
Na resposta a essa questão, Gadamer modificou substancialmente a hermenêutica, em especial a da tradição de Dilthey.
Dilthey viu seu método como uma ponte para a aquisição, por todos nós, da uma consciência histórica. Sair do campo da explicação, reconhecer a especificidade das ciências do espírito e aderir ao método da compreensão seria um modo avançado de entendimento - e de expor como é o entendimento. Heidegger criticou esse procedimento, que para ele implicava em aderir à psicologização (também ele, como os filósofos analíticos, estava tentando se livrar do neokantismo e do resto daquele tipo de filosofia que ele denominou de metafísica da subjetividade). Assim agindo, Dilthey teria levado seu historicismo a advogar um ponto fora da história, o do próprio analista.
Olhando para a obra de um autor do passado a fim de entendê-la (compreendê-la), o procedimento de Dilthey percorria três passos: primeiro, deveríamos ter imaginação para nos colocar no âmbito das vivências do autor; teríamos de conseguir alguma empatia com o próprio autor e, talvez, com a obra; por fim e principalmente, estabeleceríamos os dois pontos anteriores a partir de um ponto de vista estático historicamente, pois estaríamos assistindo a história, ao passo que nós mesmos, como analistas do outros, teríamos estancado a história ou teríamos nos colocado em um estranho ponto "fora da história".
Heidegger não admitiu que pudéssemos olhar para o outro e para a obra que queremos analisar com a postura de um psicólogo observador. Ele exigiu algo além da empatia e da imaginação: deveríamos perceber que nós mesmos somos o tempo. Estaríamos sempre em transformação e não teríamos como parar isso. Heidegger deu caráter ontológico ao entendimento.
O entendimento não seria o fruto de um método de interpretação para a captação da história ou de obras de filósofos e artistas na história. O entendimento seria uma atividade existencial do ser, uma parte da própria constituição do ser. Essas conclusões heideggerianas deram a chance para Gadamer reformar a hermenêutica sob um prisma não exclusivamente metodológico.
Em sua filosofia, em especial nos volumes de Verdade e método, o entendimento não se mostra como fruto de um ato subjetivo para a compreensão de um elemento histórico. De modo algum ele restaura a dualidade sujeito-objeto, querendo ver o entendimento como resultado de uma relação epistemológica e metodológica. Pelo entendimento, segundo Gadamer, somos integrados em uma comunidade por meio da qual somos o que somos. Essa ligação com a comunidade só se efetivaria pelo entendimento. E o entendimento, nesse caso, nunca teria sido outra coisa senão algo linguístico. Assim, a experiência do entendimento é a experiência heideggeriana com a linguagem: ela nos embala. Mutatis mutandis, Gadamer diz o mesmo: o entendimento nos embala.
Situar-se em uma comunidade e ser o ser de comunidade é o mesmo que ter o entendimento das tradições e estar na comunidade como o melhor lar das tradições - é esse o âmbito no qual se faria possível o entendimento, ao mesmo tempo que ele é o próprio ambiente comunitário. Notado isso, Gadamer não poderia fazer outra coisa senão revalorizar os prejulgamentos ou preconceitos - o conteúdo todo da linguagem. Nesse caso, desvia-se do projeto iluminista mais radical, pois sabemos que tal projeto foi o de condenação da tradição, da autoridade e do preconceito. O que o Iluminismo disse do preconceito? Para os iluministas, o preconceito era toda afirmação sem fundamento - sem o aval da razão. Diferentemente, Gadamer prefere uma reavaliação do prejulgamento ou preconceito, pois o entendimento não viria de situações que não as encerradas e arraigadas no âmbito tecido por prejulgamentos. Entender a vida e entender que um texto é algo análogo. Vemos a vida como vemos textos, isto é, redes ou conjuntos de crenças, significados, valores. Entender isso permite a eleição dos preconceitos como legítimos ou ilegítimos. Essa tarefa é levada a cabo por meio dos agrupamentos coerentes de crenças, significados e valores.
Aqui, novamente a hermenêutica de Gadamer inova. Sua hermenêutica não vê possibilidades de "se colocar no mundo do outro", como queria Dilthey. O horizonte do outro é atingido em uma fusão de horizontes. Essa fusão se assemelharia ao que fazemos quando nos vemos obrigados a traduzir um texto, tendo então que nos encontrar com linhas de pensamento e de vivências diferentes. Em uma tradução, nunca estamos em situação de colocar uma palavra de um idioma ao lado de outra, de um idioma diferente. Quem lê um dicionário e se depara com um trabalho já executado, tem apenas uma equação, na qual uma palavra é sugerida para substituir outra. Isso pode ser enganoso. Pois não é isso que fazemos no âmbito do entendimento do outro, na fusão de horizontes os mais variados possíveis.
O trabalho de Gadamer desembocou em uma filosofia sobre o mundo. Sendo o entendimento o resultado do engajamento na comunidade, no mundo, e todo engajamento só se efetivaria por meio da aquisição linguística de tudo que é a comunidade, nada mais certo que ver o mundo como linguisticamente constituído. Pois a linguagem, como ele a viu, não é linguagem senão como comunicação e entendimento. E isso daria o conteúdo e os limites do mundo. Quando aprendemos outro idioma (ou ponto de vista) e nos apossamos dele, não abandonamos nossas perspectivas anteriores. Há, segundo ele, uma fusão e uma incorporação de mundos. Não teríamos, assim, uma fronteira bem-delimitada entre um mundo e outro. Tampouco haveria uma fronteira final com o "mundo dos mundos", aquele que poderia ser o ponto de vista de todos os outros mundos sem ser, ele próprio, visualizado a partir de um mundo outro que não ele mesmo.
O problema a enfrentar, aqui, seria o da melhor ou pior perspectiva: não poderíamos dizer, então, que há uma "visão de mundo linguisticamente constituída" mais próxima da verdade que outra? Gadamer não diz que o enunciado "a Terra se move em torno do Sol" é mais verdadeiro que "O sol cai no horizonte da Terra". Ambos seriam legítimos. Pois o que é falado na conversação é o que cria o entendimento. Isto é, o que é linguístico é linguístico por forjar a comunicação, o entendimento, por constituir a comunidade linguística e, então, nos dar o mundo. Aqui, a saída gadameriana não está longe do eco da ideia de Heidegger de que "a linguagem é a casa do ser". Isto é, a experiência linguística seria anterior - ontologicamente falando - à experiência do conhecimento de qualquer coisa. A experiência do mundo - que é linguístico - aparece como anterior ao tratamento das coisas particulares do mundo.
Duas dezenas de anos antes do fim do século XIX, a filosofia britânica estava inebriada com o Romantismo alemão. Os melhores filósofos ingleses eram devotos de Hegel. O sistema do chamado idealismo absoluto dominava as cátedras. Bertrand Russell (1872-1970) esteve em meio a esse clima intelectual, mas não por muito tempo. Junto com George Moore (1852- 1933) ele logo reagiu contra a filosofia germânica reativando o realismo e criando caminhos novos e originais. Era o início de uma das partes do que viria a se chamar filosofia analítica.
Concomitantemente, no próprio campo alemão, a filosofia analítica recebia os trabalhos daquele que, para muitos estudiosos, viria a ser conhecido como o fundador dessa corrente: Gottlob Frege (1848-1925). A lógica de Frege se desenvolveu sem que ele tivesse uma intencional preocupação - ao menos inicialmente - com problemas filosóficos em um sentido amplo. Suas questões envolviam matemática e aritmética ou, talvez, filosofia da matemática. Todavia, suas investigações adentraram para o campo semântico de uma maneira abrangente e, ao serem criticadas por Russell e, depois, aproveitadas e recriticadas por Wittgenstein, preencheram os capítulos básicos da filosofia analítica.
Os estudos semânticos, quando tomados filosoficamente, eram uma maneira de retomar a tradicional discussão metafísica a respeito do que é. Compreender o que é para palavras e expressões tornarem-se portadores de significados, mostrava-se como uma maneira de retomar a discussão sobre as possibilidades internas da linguagem em dizer ou não algo do mundo.
Os estudos de Frege diziam que questões sobre o significado são, em última instância, questões sobre lógica ou que podem ser solucionadas a partir da lógica. Os argumentos filosóficos sobre qualquer tópico (da teoria do conhecimento à metafísica, passando pela ética, política, educação e estética) seriam bons na exata medida da qualidade de suas estruturas lógicas. Ampliando os princípios básicos da lógica, seria possível obter todas as noções fundamentais da aritmética. A consistência da aritmética seria provada a partir de considerações puramente lógicas. Assim, por exemplo, a definição de número nada mais seria que uma derivação do princípio de identidade da lógica; isto é, a = a. Toda a aritmética poderia ser reduzida à lógica.
Independentemente da validade de tais conclusões, o que Frege forneceu para a filosofia, inicialmente, foi o ímpeto de desvencilhar-se do que, na época, vários filósofos vinham chamando de psicologismos, identificado nas tendências neokantianas dominantes em determinados círculos universitários no final do século XIX e início do XX. Talvez se pudesse dizer que essa busca por livrar-se do psicologismo foi o equivalente da filosofia analítica à crítica ou à desconstrução do sujeito na filosofia continental.
Uma teoria do significado livre de psicologismo deveria mostrar o entendimento do significado de uma palavra sem lançar mão de eventos mentais que dela emergiriam. O significado seria determinado pelo papel que a palavra desempenha no estabelecimento das condições de verdade de sentenças em que aparece. Por exemplo, tomemos as frases do tipo "Um quadrilátero com lados iguais e com pelo menos um ângulo reto é um quadrado", "A Terra é quadrada", "a base de certas pirâmides era um quadrado", "O time da escola jogou basquete com uma bola quadrada"; ora, Frege não estava interessado nas imagens que tais enunciados poderiam evocar à mente de alguém. Estava interessado nas condições que teriam de existir para se estabelecer a verdade ou a falsidade de tais sentenças. Essas condições, para ele, seriam exatamente o que determinaria o significado da palavra "quadrado".
O mesmo se pode dizer a respeito de sentido e referência. Ambos são termos que se aplicam aos nomes próprios, ou seja, nomes ou sentenças que não são descritivas (a "Casa Branca" é um nome próprio, mas "cavalo" ou "o mais alto pico de São Paulo" - o Pico do Jaraguá - são classes ou sentenças descritivas). Diferentemente de seus antecessores, Frege estabeleceu sentido e referência como termos que não se esgotariam na função de nomear. As palavras não apresentariam com a exclusiva função de designação.
O exemplo de Frege tornou-se célebre, como o que segue.
Há aqui três nomes próprios: (M) a estrela da manhã, (T) a estrela da tarde e (V) Vênus. (M) refere-se a um corpo celeste que aparece no céu um pouco antes do nascer do Sol; sabe-se que durante séculos tal corpo foi usado como elemento importante para os marinheiros se localizarem ao acordar. (T) refere-se a um corpo celeste que aparece no pôr-do-sol, em um lugar que é praticamente o oposto de onde aparece (M) de manhã; sabe-se que os marinheiros também se guiaram pela localização desse corpo. (V) refere-se ao planeta que os terrestres veem como o mais brilhante, o segundo planeta a contar do Sol. Uma informação empírica, que hoje é disponível para todos nós, é que a denominada estrela da manhã é a que chamamos, também, de estrela da tarde e que se trata do planeta Vênus. Então, graças a uma descoberta empírica, atualmente sabemos que (M) = (T) = (V). Se for possível supor que o significado de um nome próprio nada mais é que o objeto nomeado, pode-se dizer, para esse caso, que se trata do objeto x. No caso da sentença "A estrela da manhã é a estrela da tarde que de fato é o planeta Vênus", fala-se que todo esse enunciado significa "x = x, de fato = x". A sentença é uma tautologia. Uma tautologia, nós sabemos, não transmite nenhuma informação a mais que já se tem inicialmente. Todavia, nesse caso, tal sentença transmite uma informação. Quem tem conhecimento de tal informação, hoje, sabe mais que os marinheiros do passado. O que Frege conclui disso é que deve haver mais coisas no significado que a simples relação entre um objeto nomeado e um nome. Frege procura um terceiro elemento na relação do significado. A esse terceiro elemento ele chama de sentido. Segundo Frege, o sentido cria para os estudiosos um novo modo de ver o objeto referido, um novo modo de apresentação deste - uma maneira específica de representá-lo.
Mas o que é, para Frege, o sentido de um enunciado?
Ele diz que o sentido de uma frase deve ser algo que se modifica conforme as partes de tal frase são trocadas por outras com sentido diferente, mas com a mesma referência. Dessa forma, "A estrela da manhã é Vênus" é modificada quando "estrela da manhã" é substituída por "estrela da tarde", resultando na frase "A estrela da tarde é Vênus". O que se modifica? O sentido da frase se modifica. Para Frege, o pensamento que a frase expressa é o que se modifica. "A estrela da tarde é Vênus" é um enunciado que expressa uma ideia que é diferente daquela mostrada pelo enunciado "A estrela da manhã é Vênus".
Assim, no plano metafísico ou, mais exatamente, no plano ontológico, estabelece-se aí um tipo de platonismo fregeano que postula três domínios: o domínio das entidades objetivas e reais (o planeta Vênus, por exemplo), acessadas de modo intersubjetivo, ou seja, trata-se de algo compartilhado pelos falantes; o domínio das entidades subjetivas e reais, em que estão os eventos mentais, os quais não são acessados intersubjetivamente pelos falantes; e, por fim, o domínio das entidades objetivas, mas não reais. Essas últimas entidades, mostradas pela linguagem em expressões tais como "A estrela da manhã é Vênus" ou "A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus", são atemporais e não dependem de um sujeito - a linguagem fornece acesso a um campo no qual há elementos objetivos que não são tateados nem vistos.
Como Frege, Russell era antes um desbravador da lógica que um filósofo exclusivamente preocupado com análise conceitual. A nova lógica, desenvolvida por Frege e por ele próprio, foi utilizada por Russell como meio para parafrasear aquelas proposições filosoficamente problemáticas, utilizando, então, o aparato da linguagem formal. Mas, o que se pode chamar de "proposições filosoficamente problemáticas"? Ora, aquelas que falam do que não existe, ou seja, as do discurso tipicamente ficcional. Russell entendia que a análise lógica dava os meios corretos para mostrar que não deveríamos mais nos preocupar com as proposições que falam de elementos não existentes. A legitimidade do discurso ficcional poderia ser obtida por meio de um mecanismo de contextualização - como o que ele havia desenvolvido. Falar de coisas não existentes não nos comprometeria em ter de aceitá-las - um problema que, como se sabe, vem das origens da filosofia, talvez desde Parmênides. Nesse aspecto, Russell diferiu de Frege.
Frege entendia que uma sentença do tipo "F é G." tem um sentido, mas é carente de referência se o que é F não existe. Por exemplo, uma sentença como "O atual Rei da França é careca." expressa um pensamento, mas não possui um valor de verdade, não é nem falsa e nem verdadeira uma vez que não possui uma referência. Aqui, Russell desconsidera a distinção entre sentido e referência de Frege, redescrevendo o enunciado em questão como "Há uma e somente uma coisa que é o atual Rei da França, e toda coisa que é um atual Rei da França é careca". Trabalhando dessa forma, Russell toma as expressões com descrições definidas pelo nome de símbolos incompletos (as que não possuem referências por si mesmas, isto é, não apontam para nada), e as vê como sentenças que podem ser parafraseadas no contexto de sentenças significativas em que elas ocorrem. Uma vez parafraseada, como no exemplo, o problema desaparece - o "atual Rei da França" aparece como uma coisa única definida como "careca". O discurso ficcional ganha uma determinada legitimidade semântica.
Essa solução de Russell foi comemorada. Seu "realismo robusto" dizia que os problemas de enunciados "estranhos" poderiam ser reduzidos pela análise lógica, assim, a forma lógica da proposição mostraria como é o fato, sem que se ficasse perdido e embaraçado nos problemas gramaticais dos enunciados, exatamente aqueles que gerariam problemas filosóficos. Na base desse projeto realista, estava a crença - com objetivo metafísico - de que sentenças verdadeiras analisadas de modo correto são isomórficas aos fatos que elas expressam; então, a análise deveria revelar os elementos últimos da estrutura da realidade.
Todavia, para Wittgenstein, a própria natureza da lógica não havia sido investigada. Ela serviria para parafrasear, mas, e ela mesma, a lógica, qual seria o seu caráter? Wittgenstein tinha pela frente quatro respostas para uma pergunta desse tipo.
Na tradição inglesa, as proposições lógicas eram vistas como elementos bem úteis para generalizações a partir de induções. O psicologismo dizia que a lógica dava as leis do pensamento humano, e isso mostraria a própria natureza da mente humana. O platonismo de Frege afirmava que as verdades lógicas não deveriam ser vistas pela via do psicologismo, pois elas se caracterizariam pela sua completa objetividade e necessidade, e tais características só poderiam ser explicadas se houvesse a consideração em relação ao seu terceiro reino ontológico. Por sua vez, Russel tinha a sua posição específica: as verdades lógicas são maximamente gerais e dariam os caminhos profundos para a realidade, e tais caminhos seriam acessados pela nossa abstração a partir de proposições não lógicas. Assim, se há um enunciado como "Paulo ama Fran.", o que se pode tirar daí é forma lógica "xFy" e, então, uma proposição como "algo é de alguma forma relacionado a algo".
Wittgenstein não aceitou nenhuma dessas ideias sobre a lógica. Expressões da lógica nada seriam senão enunciados vazios - tautologias. Na combinação que fazem entre si, tais frases nada diriam. Por exemplo, se afirmamos algo como "p V ~p", estaríamos dizendo o quê? Pois "Chove" diz algo sobre o tempo, "Não chove" diz algo sobre o tempo, ambas podem ser falsas e verdadeiras, mas "Chove ou não chove" ("p V ~p", lê-se: p e não p) nada diz, nada informa. Então, seria interessante ver qual o papel desses elementos lógicos.
Wittgenstein disse que vários elementos lógicos expressavam o papel de operadores, ligando proposições elementares às proposições mais complexas. Eliminando tais operadores por meio de uma análise, ficaríamos com os elementos últimos que não seriam mais possíveis de serem analisados; ele chamou tais elementos de nomes. O nome teria seu objeto, ele apontaria para uma referência, que nada seria senão "um mais simples" componente da realidade. Assim, por outros caminhos, Wittgenstein mostrou participar da crença de Russell no isomorfismo entre linguagem e mundo.
As concordâncias ficaram em segundo plano, uma vez que os rumos das pesquisas de Russel e Wittgenstein eram diferentes. O primeiro queria mostrar que esses componentes últimos da realidade são objetos de familiaridade sensória. O segundo acalentava um projeto quase kantiano. Kant quis estabelecer os limites da razão, Wittgenstein pensava em estabelecer os limites do discurso. Até que ponto teríamos o discurso legítimo? Em que ponto estaria o início do discurso ilegítimo, meramente especulativo? Seria uma transformação do projeto kantiano de estabelecer os limites do pensamento; em vez de se fixar no pensamento, haveria a fixação nos pontos limites da linguagem.
Convencido de que os pensamentos não deveriam ser vistos como processos mentais e nem como entidades abstratas, Wittgenstein os assumiu como sentenças e proposições projetadas no interior da realidade. O pensamento poderia ser totalmente expresso em linguagem e, então, a tarefa da filosofia seria a de estabelecer os limites do pensamento estabelecendo os limites das expressões linguísticas do pensamento. Tais limites não poderiam ser colocados de lado pelo próprio pensamento; então, tais pensamentos não poderiam ser pensados. Os limites do pensamento poderiam ser conseguidos apenas "na linguagem", e isso se faria ao se mostrar que certas combinações de signos linguísticos carecem de sentido. Por exemplo, nada podemos entender por "O agudo é branco".
Com o Tratactus Logico Philosophicus, Wittgenstein pensa obter algo como as "precondições linguísticas da representação". Foca seu olhar sobre o que seria a "forma geral da proposição". Assume a essência da proposição como o que se daria no estabelecimento "de como as coisas são". O pressuposto metafísico envolvido nesse raciocínio é o do isomorfismo entre o mundo e a linguagem. Haveria uma estrutura lógica da linguagem, e tal estrutura seria idêntica à estrutura (metafísica) da realidade. Ou haveria uma única estrutura, compartilhada pelo mundo e pela linguagem. Por isso mesmo, a linguagem captaria o mundo segundo o seu estado de coisas, ou seja, as combinações de seus objetos. Os nomes constituintes seriam como que procuradores, representantes dos objetos, e teriam a mesma forma lógica dos estados de coisas.
Assim pensando, Wittegenstein diz que há três tipos de proposições (mais ou menos como já havia sido aludido por Hume). As proposições empíricas possuem referência em virtude de representarem os estados de coisas e, então, têm valor de verdade; as proposições lógicas são vazias; as proposições metafísicas são puro non sense. As proposições da metafísica tentam dizer aquilo que não permite o contraponto, o desmentido ou a falsificação, então, elas se apresentam como descartáveis. O próprio Tratactus fala algo que, em última instância, tem de ser lido e finalizado - não se pode tirar nenhuma doutrina dele. Esse trabalho da filosofia corresponde somente a uma limpeza de área ou uma escada que, uma vez usada, pode ser descartada, pois ninguém a usará como caminho a ser seguido. A filosofia não tem como criar sistemas para ter seguidores.
O que restaria à filosofia? Ela certamente seria uma atividade, uma crítica da linguagem em favor da elucidação do que dizemos. E a análise lógica entraria aí como seu instrumento principal. Em um sentido positivo, ela poderia clarear enunciados científicos, em um sentido negativo, poderia atingir cada uma das proposições metafísicas e mostrá-las como desprovidas de sentido.
Os filósofos que se reuniram no chamado Círculo de Viena, autodenominados empiricistas lógicos ou positivistas lógicos, ficaram muito impressionados com o Tratactus Lógico-Philosophicus de Wittgenstein. Eles o incorporaram em seus projetos.
Esses projetos incluíam a crença na unidade da ciência, a busca por uma definição do papel da filosofia diante da ciência e a melhoria (ou abandono) do verificacionismo.
A ideia de unidade da ciência se dava pelo anseio de ter todas as disciplinas, humanísticas e científicas, agrupadas em um único sistema. Esse sistema teria a física como sua base. Isso porque os termos científicos iriam ser expostos crescentemente em um vocabulário cada vez mais observacional que, no limite, teria de se formar com proposições a respeito do que é fornecido na experiência. Essas proposições foram chamadas de sentenças observacionais ou sentenças protocolares. Exatamente nesse ponto, os positivistas lógicos se dividiram. Para um filósofo como Moritz Schlick (1882-1936), essas sentenças seriam a respeito de experiências sensíveis subjetivas, enquanto que para Neurath (e depois, Carnap), tais sentenças seriam antes a respeito de objetos físicos que sobre eventos mentais. A ideia de Rudolf Carnap (1891-1970) e Neurath era a de que os objetos da ciência deveriam ser de acesso intersubjetivo.
Sobre a relação da filosofia com a ciência, Otto Neurath (1882-1945) queria uma dissolução da filosofia na própria ciência que unificaria todas as ciências, baseada na física. Essa atitude não era a de Carnap e Schlick, que viam na filosofia um domínio próprio, o da análise filosófica das proposições e, particularmente, dos enunciados científicos.
O verificacionismo vinha da ideia de que somente as sentenças positivas eram capazes de ganhar valor de verdade e, então, de serem verificadas ou falsificadas. A objeção a isso apareceu logo, pois não foram poucos que disseram que sentenças imperativas, interrogativas e performativas também tinham a ver com o significado linguístico. Carnap tentou contornar o problema limitando o verificacionismo a expressões com conteúdo cognitivo apenas, e deixando de lado aquelas que mostravam algum significado emotivo.
São vários os filósofos que mudaram de pensamento de modo radical. Todavia, é difícil encontrarmos na história da filosofia um filósofo cujas mudanças se fizeram de modo tão explícito, quase que em um processo jurídico de autocondenação, como o caso de Ludwig Wittgenstein (1889-1951). No caso de Marx, por exemplo, os historiadores da filosofia puderam falar no "Marx jovem" e no "Marx maduro", tentando então distinguir os escritos pertencentes a uma primeira fase dos de uma segunda fase. Wittgenstein não deu esse trabalho aos historiadores da filosofia, ele mesmo deixou suas duas fases bem caracterizadas. E tais fases dividiram não só a sua filosofia, mas toda a filosofia analítica.
A sua primeira fase é a do Tratactus Logico-Philosophicus, a sua segunda fase é emblematizada pelos escritos publicados postumamente como Investigações filosóficas. Nos escritos da segunda fase, Wittgenstein usa o termo "o autor do Tratactus" para apontar aquele contra quem escreve, e não poupa críticas. Não à toa os historiadores da filosofia puderam falar em Wittgenstein I e Wittgenstein II sem querer aludir a qualquer esquizofrenia, e sim a um gênio intelectual que, como tal, não poderia não ser profundamente honesto com ele próprio.
Durante toda a sua vida, Wittgenstein esteve preocupado com problemas que, de certo modo, são aqueles que tradicionalmente denominamos de centrais na metafísica - posições no âmbito do problema dos universais. Para vários filósofos, esses são os problemas de filosofia par excellence. Nos termos da filosofia analítica, são os problemas da relação entre a linguagem e o mundo.
Wittgenstein 1 tomou partido nesses problemas construindo sua própria teoria do significado. Chamamos tal teoria de teoria da figuração (picture theory). A formulação básica dessa teoria diz que a linguagem consiste de proposições que figuram ou representam o mundo. As proposições expressam pensamentos, e estes nada são senão quadros (figuras) lógicos dos fatos. As proposições e pensamentos espelham o mundo à medida que compartilham algo comum, que é uma forma lógica. Há aí um pressuposto inicial: o do isomoformismo entre linguagem e mundo.
A forma lógica é o que há de comum entre proposições e mundo, e então a tarefa da filosofia é analisar a linguagem de modo a obter o que é possível de ser analisado, separando as proposições que podem ser analisadas e representam o mundo (as que mostram uma figura do mundo), e as proposições que não representam o mundo (que não mostram nenhuma figura), que são pseudoproposições. O resultado que Wittgenstein tem em mãos é que todas as proposições da metafísica são desse último tipo. Então, a tarefa da filosofia é autofágica.
Wittgenstein diz que a proposição "O gato está no tapete." conta que há um gato e há um tapete, e que há uma relação entre eles. Essa proposição diz isso e mostra a forma lógica que compartilha com o mundo, a palavra gato representando o gato, a palavra tapete representando o tapete e o resto da proposição falando da relação entre gato e tapete. Todavia, a própria proposição não pode fazer mais que isso. Ela representa o mundo, mas ela não se representa. Ela apenas se mostra - se mostra nessa atividade de representar o mundo. Assim, aquilo que se procura no trabalho da filosofia, no Tratactus, que é a forma lógica da proposição, é em princípio algo que o Tratatus não vai poder comentar ou explicar ou representar. E se o Tratactus é um texto de filosofia que tenta fazer isso, ele próprio não tem sentido. Ele pode elucidar, mas mostrando a forma lógica, só isso. Não pode fazer com ela o que ela, como a proposição, faz com o mundo, que é a representação.
Toda a tarefa da metafísica, como seria a de descrever a forma lógica da proposição, para encontrar aquilo que seria o que o mundo e a linguagem compartilham (a essência da linguagem ou do mundo), é uma tarefa vã - eis aí que os problemas da filosofia são pseudoproblemas.
Wittgenstein II negou quase tudo isso. Continuou achando que os problemas de filosofia são problemas de linguagem, mas não deu nenhum crédito para a construção de uma teoria de elucidação do funcionamento da linguagem baseada na ideia de que a linguagem tem uma lógica interna. Passou a não mais acreditar que a linguagem possui algo escondido, que seria a sua estrutura lógica. Deixou de buscar a chamada "forma lógica da proposição". Considerou que nada existe que possamos chamar de Linguagem, o que existe são linguagens diversas, que são criadas e desenvolvidas enquanto formas de vida, entrelaçadas às práticas comportamentais, valorativas e humanas. Não haveria Linguagem, e sim inúmeros jogos de linguagem formando linguagens em contínua transformação. Assim, apontar para algo como o significado não seria nada útil, a não ser que se pudesse dizer - como ele disse - que o significado de enunciados era algo da ordem do uso. Investigando o uso que fazemos de palavras e sentenças, poderíamos antes descrever que explicar como se dá o funcionamento de jogos de linguagem e, então, dizer algo do significado.
Assim, para o Wittgenstein II a filosofia poderia ser ainda algo que teria de lidar com a linguagem, mas para uma atividade de terapia, em um sentido pouco metafórico do termo. Pois, de fato, os problemas típicos da filosofia seriam uma doença; eles surgiriam não pelo funcionamento efetivo da linguagem, mas exatamente nos momentos em que a linguagem "tira férias" ou quando age como uma roda que "gira em falso". Surgiriam quando utilizamos palavras em um jogo de linguagem de modo a mostrarmos que não estamos sabendo jogar aquele jogo.
Contra a ideia de uma estrutura escondida e profunda, que daria a norma (lógica) para o funcionamento da linguagem, Wittgenstein II passou a dizer que não havia uma única norma, mas inúmeras normas - os jogos de linguagem. A palavra jogos, nesse caso, deve ser levada a sério. Jogos são diferentes uns dos outros; mas, se eles se parecem a ponto de falarmos em jogos, englobando-os em um só termo, é por causa de algo como "semelhança de família". Assim, jogos de linguagem não se escondem, são exatamente o que temos à vista na linguagem em seu uso. Usamos a linguagem para negar, afirmar, contar, reportar, dar ordens, contar piadas, perguntar, cantar, resolver problemas, traduzir, xingar, rezar, expressar dor, agradecer, especular, conjecturar, chamar e mais uma série, talvez infindável, de práticas. Sim - práticas sociais.
Assim, para o Wittgenstein II apanhar algo relevante sobre o significado não demandaria outra coisa senão observar o que é entender uma linguagem. E entender uma linguagem nada seria senão a atividade de usar uma técnica, uma espécie de know how. Especificamente, entender uma linguagem demanda ob servar o uso para ver como é que é seguir uma regra. E como só sabemos se estamos seguindo uma regra quando participamos do jogo, usar bem os jogos de linguagem é usá-los socialmente. A linguagem só é linguagem como prática social.
Seguir uma regra no Tratatus é seguir uma única e exclusiva regra, a do cálculo. A lógica dá a regra. Seguir uma regra nas Investigações filosóficas é seguir inúmeras regras que são as regras dos vários jogos de linguagem. Nesse segundo caso, o que se tem para observar é o que se está mais à mostra, ou seja, os costumes e hábitos que se dão na concordância de quem pratica uma linguagem. A analogia com o jogo perdura: observamos quem joga xadrez. Vale compreender a maestria com que move a torre na hora certa, e não tentar perguntar por que a torre anda daquele modo e não de outro, como andaria, por exemplo, o peão. Seguir uma regra é algo da ordem da vida social e, portanto, uma linguagem não existe senão como prática social. Não pode haver linguagem no âmbito de uma privacidade que não foi nunca banhada pelo social.
Centrado na ideia de crítica à concepção de linguagem do Tratactus, Wittgenstein II insistiu na ideia de que os jogos de linguagem estão diante de nós, é o que temos de mais visível. Seguindo essa rota, não deixou de fazer a crítica da ideia da existência de algo "mais profundo", no "âmbito do mental", como sendo o locus da linguagem.
Observando os jogos de linguagem, Wittgenstein procurou mostrar que nem todas as palavras são nomes e que nomear não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Para se nomear algo, não bastaria confrontar esse algo com a emissão de um som, porque solicitar e dar nomes são atividades que só podem se realizar no contexto de um jogo de linguagem. Assim é o caso, também, na situação relativamente simples de nomear um objeto material, e é claro que tudo se torna ainda mais complexo quando se trata da nomeação de eventos e estados mentais, como sensações e pensamentos.
Nesse caso, Wittgenstein se põe diante da seguinte questão: como a palavra "dor" funciona como o nome de uma sensação?
Em geral, pode imaginar que a palavra "dor" adquire seu significado por meio de sua correlação com a sensação de dor privada e incomunicável de cada um. O que Wittgenstein diz é que se deve resistir à tentação de ver as coisas sob essa perspectiva. Nenhuma palavra adquire significado desse modo. Suponha, diz ele, que alguém deseje batizar uma sensação privada com o nome de S. Seu procedimento seria o seguinte: fixa sua atenção na sensação a fim de correlacionar esse nome S com tal sensação. Qual o alcance desse método? Quando, depois, esse alguém quiser usar o nome S, como saber se está procedendo corretamente? Uma vez que tal nome nomeia uma sensação privada, ninguém mais pode conferir se seu uso está correto. Nem o próprio nomeador. Antes que se possa conferir se "isto é S" é uma afirmação verdadeira, o nomeador precisa saber o que ele próprio quer dizer com a sentença "isto é S", seja ela verdadeira ou falsa. Como então alguém pode saber se o que diz, neste momento, ao enunciar S era o que queria dizer quando batizou a primeira sensação de S? Pode apelar para a memória? Não, pois, para agir assim, deve poder evocar a memória correta: para que possa evocar a memória de S já deve saber, de antemão, o que S significa. Não há, afinal, nenhum exame do seu uso de S, nenhuma possibilidade de correção de qualquer uso equivocado. Isso significa que falar de "correção" não é pertinente.
Esse é o fio condutor do ataque de Wittgenstein à ideia de existência de uma "linguagem privada". Sua conclusão é a seguinte: não pode haver uma linguagem cujas palavras se refiram àquilo que só pode ser conhecido pelo falante da linguagem. O jogo de linguagem com a palavra em português "dor" não é uma linguagem privada; uma pessoa pode muito frequentemente saber quando outra está com dor. Não é por meio de qualquer definição solitária que "dor" torna-se o nome de uma sensação: é, antes, por formar uma parte de um jogo de linguagem comunitário. Por exemplo, o choro de um bebê é espontâneo, é uma expressão pré-linguística de dor; depois, gradualmente, a criança é treinada pelos pais a repetir isso com a expressão convencional, a expressão aprendida de dor. A linguagem de dor é enxertada na expressão natural de dor.
A argumentação de Wittgenstein contra a possibilidade de uma "linguagem privada" atinge diretamente toda uma tradi ção filosófica, a tradição que vem de Descartes e chega a David Hume (1711-1776), isto é, as duas grandes escolas de filosofia moderna: a escola racionalista e a escola empirista.
Ambas as escolas advogaram que uma mente individual, pelo pensamento, poderia classificar e reconhecer seus próprios pensamentos e experiências; enquanto isso, tal mente manteria em suspenso a questão da existência do mundo externo e de outras mentes. Essa posição (como a das Meditações cartesianas) parece implicar a possibilidade de uma "linguagem privada" ou de algo semelhante. Com Wittgenstein, tanto a escola empirista como a racionalista recebem um duro golpe.
Alguns filósofos empiristas afirmam que as únicas questões de fato possíveis de se conhecer são aquelas da própria experiência - o que se denomina conhecimento a respeito do mundo ou conhecimento a respeito de outras pessoas está baseado no conhecimento dos estados e processos mentais próprios do cognoscente. Esses filósofos têm considerado como certo que o conhecimento de experiências pode ser expresso em linguagem, ao menos para os próprios falantes, e que a possibilidade dessa expressão não pressupõe qualquer familiaridade com o mundo externo ou outras mentes. Alguém que aceita isso deve acreditar na possibilidade de uma "linguagem privada", aquela linguagem cujas palavras adquirem significado simplesmente por serem ou por estarem sendo ligadas às experiências privadas - exclusivamente privadas.
Certamente, tal pessoa também deve acreditar que a linguagem atual é uma "linguagem privada", não no sentido de que ela é peculiar a um usuário singular, mas como uma linguagem cujas palavras teriam adquirido seus significados por cada um dos falantes de tal linguagem mediante um processo essencialmente privado, a saber: uma definição ostensiva privada na qual uma amostra apropriada de experiência foi recolhida e associada a uma palavra. Se as palavras são pensamentos que adquirem significado desse modo, pode-se perguntar se as amostras com as quais uma pessoa adquiriu seu vocabulário são realmente como aquelas de outra pessoa que fez o mesmo. Assim, o empirismo carrega consigo uma versão do ceticismo, que se mostra desta maneira: "Tudo que chamamos de vermelho você pode chamar de verde".
O argumento de Wittgenstein, que, se certo, desconsidera a possibilidade de uma "linguagem privada", refuta essa versão do empirismo, bem como o ceticismo a ele associado.
Qualquer refutação do ceticismo parece boa para os que lidam com doutrinação, para os que querem que haja possibilidade do discurso verdadeiro em um sentido forte da palavra "verdadeiro". Todavia, só à primeira vista, a argumentação de Wittgenstein se mostra amiga dessa posição. Ela é antifundacionista. A posição de Wittgenstein II problematiza o saber fundamentado na certeza como produto da interioridade nuclear e indevassável do sujeito-indivíduo que, por sua vez, ligar-se-ia aos outros sujeitos-indivíduos por meio de uma "natureza comum", a natureza humana ou algo semelhante - ou a própria "estrutura lógica da linguagem", como um elemento inerente a todos os humanos.
Enquanto vários filósofos tentavam construir uma teoria do significado, o norte-americano Williard Van Orman Quine, inspirado tanto na filosofia analítica quanto no pragmatismo, desenvolveu a incômoda tese da "indeterminabilidade do significado".
Sua formulação pode ser apresentada como tendo um parentesco em relação ao "argumento contra a linguagem privada".
Segundo Quine, as "semânticas acríticas" se articulam com uma concepção sobre o pensamento humano que imagina a mente humana como um museu, que possui internamente várias peças expostas em vitrines, que são os significados, e todas essas peças associadas aos seus rótulos, que são as palavras (como um museu com suas peças). Assim, nessa concepção, trocar de linguagem é trocar os nomes, preservando as peças do "museu mental". Aceitaríamos tal semântica porque admitimos a possibilidade de que todos os humanos são capazes de produzir uma "linguagem privada", uma linguagem não aprendida socialmente que preservaria para cada homem, em um plano mental interno e privado, a expressão própria dos significados (a essência das coisas). Cada ser humano teria uma linguagem exclusiva com a expressão dos significados mentais. Admitido isso, teríamos a possibilidade de falar de uma ligação entre o "mundo íntimo" e o "mundo exterior". E se existisse tal linguagem (seria uma linguagem?), poder-se-ia, por introspecção, apanhar os significados.
Contra a tese da linguagem privada, tomando a linha de John Dewey e, enfim, a do Wittgenstein II, Quine entende a linguagem como uma interação social que pressupõe um grupo organizado em que os falantes adquirem seus hábitos linguísticos. Desse modo, o significado não é uma entidade psíquica. É, sim, uma propriedade do comportamento - do comportamento linguístico, social. Por isso mesmo, Quine não admite uma tradução a partir de uma correlação termo a termo, como se houvesse na mente humana o significado universal dos termos, pronto para fazer a mediação entre as linguagens, ou seja, os rótulos, na acepção das "semânticas acríticas".
Uma doutrina como esta poderia se acusada de relativismo. Quine buscou contar isso por meio de certo comportamentalismo. Ou seja, ele advogou uma concepção behaviorista de significado. Trata-se da noção batizada como stimulus meaning. Do que se trata?
Há stimulus meaning afirmativos e negativos de uma sentença S para um falante A. O que se denomina stimulus meaning é o conjunto de estimulações que tornariam A disposto a assentir ou dissentir da sentença S. Tal disposição de A seria, em última instância, determinada pelas estimulações neurais que colocariam o falante A em situação de assentir ou dissentir de S.
Os trabalhos de Quine ecoaram sobre as investigações de Donald Davidson. Entretanto, a ideia de stimulus meaning não foi absorvida pela agenda davidsoniana. Davidson não viu qualificação para a questão de ter de falar de condições comportamentais que, em última instância, seriam por causa de "estímulo neural".
Davidson dispensou a ideia de "estimulação neural" e uma série de outras noções que foram evocadas por vários filósofos para suas teorias do significado. Estas, no campo da filosofia da linguagem, dividem-se em dois tipos: as teorias analíticas e as teorias construtivas. As primeiras são exemplificadas pelas teorias referenciais, behavioristas e causais, verificacionistas, teorias que explicam o significado pelo uso, teorias dos atos de fala e teorias das intenções de comunicação. As segundas são teorias que podem bem ser exemplificadas pelo trabalho de Davidson. Em vez de dizer, diretamente, o que é o significado, como as teorias em geral tentam fazer, a teoria davidsoniana opta por um objetivo mais humilde. A teoria davidsoniana gera um teorema para cada sentença S de uma linguagem natural L; e o teorema fornece o significado de S e mostra como o significado depende dos componentes de S. De que tipo são esses teoremas?
Davidson toma como ponto de partida a ideia, simples e intuitiva, de que um teorema que quer dar o significado de uma sentença é do tipo:
(I) S quer dizer M.
Nesse caso, S denota uma sentença de L, e M é seu significado. Tal teorema é rejeitado por Davidson, uma vez que ele, seguindo Quine, acredita na indeterminabilidade do significado, na impossibilidade de levar adiante um teorema que indica para S uma referência. Assim, seu segundo passo é admitir uma modificação no teorema (I). Sua escolha recai na seguinte formulação:
(II) S quer dizer que p.
Nesse caso, S é o nome de uma sentença de L, e p é uma sentença de uma metalinguagem de L que especifica o significado de S. O teorema (II) é melhor que o teorema (I), uma vez que evita a reificação do significado. O significado não é uma coisa para o qual se aponta, e sim uma sentença. Se S e p são sentenças, então não há, aqui, qualquer desobediência a Quine, pois não se está comparando entidades linguísticas com entidades não linguísticas. Todavia, Davidson entende que (II) ainda não é uma boa opção. Entre outras razões, sabe que tal teorema soa circular: a expressão "quer dizer que", que está no teorema, pressupõe que já se saiba, de antemão, o que vai ser mostrado, que é o "quer dizer que" ou o "significado". Ou seja, (II) quer mostrar o significado e, no entanto, pressupõe que o saibamos para entender (II).
O terceiro passo de Davidson é propor que S e p sejam articulados, para formar o teorema pedido, por uma expressão que ele recolhe da teoria semântica da verdade, do lógico Alfred Tarski (1901-1983). Fazendo isso, ele tem:
(III) S é verdadeiro se e somente se p.
Nesse caso, p é uma sentença de uma metalinguagem de L, em que L é a linguagem natural na qual se situa a sentença S. O teorema (III) é o que se encaixa perfeitamente nos objetivos de Davidson. Sua teoria do significado para uma linguagem L fornece teoremas sobre as condições de verdade das sentenças de L. Isso fica perfeito porque Davidson acrescenta o tempo e o falante na aplicação do teorema, de modo que, exemplificando, temos:
"Eu estou alegre" é verdadeiro no português quando falado pelo falante x no tempo t se e somente se x está alegre em t.
Genericamente, o teorema é o que segue:
(IV) S é verdadeiro em L quando falado por x no tempo t se e somente se p.
Nesse caso, x é um falante de L, t é um momento, S o nome de uma sentença de L e p a tradução de S na metalinguagem de L.
O que Davidson demonstra é como podemos elaborar uma relação entre as linguagens que dariam condições para pensarmos em contornar as dificuldades da intradutibilidade posta por Quine. Os teoremas são a formulação que pode esclarecer algo sobre o significado na base de observar condições de verdade, e nada mais.
Esse projeto de Davidson ganha o nome de "interpretação radical" quando acoplado aos procedimentos que implicam o "princípio de caridade" e a "triangulação".
O intérprete radical é aquele que tem de entender um conjunto de sons (provavelmente uma linguagem) emitidos por um nativo (ou um alienígena) - o falante - sem que se saiba de antemão qualquer informação a respeito das palavras de tal suposta linguagem, qualquer possível significado de alguma palavra. O procedimento básico do intérprete radical envolve e que Davidson chama de princípio de caridade. Esse princípio nada mais é que uma prática de pressuposição. Admite-se que o falante, possuindo uma linguagem, exibirá um padrão de crenças (e outras atitudes) cujos conteúdos são logicamente consistentes. Pode-se pressupor essa racionalidade ao falante? Sim, pois tal atribuição, do modo como Davidson a toma, não é nem um pouco exagerada. O que se faz é não admitir que se uma pessoa coloca um doce na geladeira e, no mesmo momento, acredita que há o doce na geladeira, então ela também acredita que não há o doce na geladeira.
Aceitando essa base do princípio da caridade, Davidson adiciona a este a triangulação. Davidson introduz a imagem de um triângulo cujos vértices são o falante, o intérprete e o meio ambiente compartilhado por eles. A interpretação consiste nas várias tentativas do intérprete de conformar sua teoria da interpretação ao falante e a seu meio ambiente. Sua teoria tem êxito por fazer o falante e o intérprete concordarem a respeito de atitudes e sentenças que ambos sustentam fortemente, aquelas que eles não podem abrir mão. É improvável que a concordância seja completa; contudo, quanto maior concordância, mais delineamento haverá sobre o que não há concordância. Questões teóricas provocarão maior discordância que questões sobre o meio ambiente de contato mais direto com o falante e o intérprete.
O processo de triangulação, que toma a linguagem como basicamente comunicacional, pressupõe o holismo de Davidson. O holismo é a posição que diz que não é possível que exista uma crença particular isolada de outras crenças. Atribuir uma crença a um indivíduo significa atribuir a ele um conjunto de crenças. Holismo e triangulação, servindo ao princípio de caridade, dão a Davidson a garantia de que uma forma de interpretação é, ao menos formalmente, possível. Se a teoria do significado depende da possibilidade de falar em interpretação, ela fica, com isso, assegurada.
No final do século XIX, a filosofia britânica estava impregnada de hegelianismo. Não é de se estranhar que os filósofos norte-americanos da segunda metade do século XIX, uma vez leitores do idealismo britânico, também fossem simpatizantes de Hegel. Em parte, foi pela via de Hegel (e do debate deste com Kant) que o pragmatismo deu seus passos mais sólidos, especialmente com John Dewey (1859-1952).
A ideia básica do pragmatismo veio da busca de se livrar da polêmica entre o realismo neokantiano ou realismo lógico e o idealismo hegeliano. Este foi o campo de trabalho assumido por Dewey, dando atenção especial à metafísica e à epistemologia. Mais próximo do campo epistemológico-metodológico, William James (1898-1944) preferiu acentuar que o pragmatismo estava além da polêmica entre racionalismo e empirismo. Adaptado à terminologia atual, Richard Rorty preferiu falar em representacionismo versus antirrepresentacionismo. Nos dois primeiros casos, o de James e Dewey, a noção de experiência esteve como o que poderia representar o elemento pelo qual se sairia do debate tradicional; no caso mais atual, a linguagem veio substituir a experiência.
Tanto no pragmatismo do final do século XIX para o XX quanto no pragmatismo mais recente, do final do século XX para o início do XXI, o ponto de partida é o dualismo moderno no campo metafísico, e consagrado como tópico básico do que hoje é ensinado nas disciplinas de filosofia da mente. Não à toa, portanto, Rorty veio a ler Heidegger com proveito, incorporando as críticas do alemão ao seu antirrepresentacionismo e ao abandono do pragmatismo ao modelo sujeito-objeto.
Colocando em termos básicos e simples, a questão inicial é a que segue.
Podemos apostar que tudo no mundo é material (da ordem do físico). Ou podemos apostar que tudo no mundo é espiritual (da ordem do pensamento). Ou, ainda, podemos querer optar por dizer que o mundo comporta o espiritual e o material. Quando ficamos com a primeira aposta, podemos nos incomodar com a ideia de que teremos de fazer do pensamento uma forma do físico, ou manifestação do físico. E, se adotamos a segunda aposta, há outro incômodo: não nos convencemos facilmente que tudo no mundo é, certo modo, da ordem do pensamento. Bem, a terceira opção seria palatável? O que é pensamento é pensamento, e o que é físico é físico. Mas, aqui, também temos problemas: como explicar a relação entre o físico e o pensamento. Começamos com a célebre glândula pineal de Descartes, que não obteve nenhum sucesso. Depois, tentamos evitar a relação efetiva, e então viemos com a solução kantiana: conhecemos a nós mesmos, enquanto corpo, apenas do ponto de vista fenomênico. Ora, o pragmatismo tentou sair dessas duas soluções. Uma saída com um apelo holístico, hegeliano.
O pragmatismo surgiu no momento em que essas terceiras e quartas opções começaram a ficar tediosas. Afinal, qual o benefício em se dizer que o mundo é feito de uma coisa ou outra, ou de ambas? Qual a razão para nos mantermos fiéis à ideia de que o mundo tem de ser feito de uma substância? Por que Aristóteles teria de ainda estar vigente, com o conceito de substância, martelando nossas cabeças? Não seria melhor antes mudar de pergunta que ficar tentando encontrar uma resposta para uma pergunta já desgastada?
O pragmatismo veio exatamente com essa proposta: deixemos de lado a ideia de que o mundo tem de ser feito de uma substância, vamos tomar o mundo segundo uma ideia menos atávica. Ele pode ser aceito como um conjunto variável de relações. Ora, relações? Sim - só relações! Em vez de falarmos de coisas, vamos falar de relações. Podemos continuar usando os termos que até então estávamos usando, um tanto reificados como pedra, homem, terra, leão, computador, amor e frauda. Claro, não há razão para se abandonar de uma hora para a outra nossa linguagem, que é nosso pensamento. Mas podemos imaginar que cada uma dessas "coisas" é um feixe contingente de relações.
Assim, quando fazemos isso, libertamo-nos da ideia de substância - algo perene, imutável, que seria o núcleo de cada coisa - e passamos a viver com a ideia de que tudo está em contínua mudança segundo as relações que vão se estabelecendo. Essas relações podem ganhar nomes diferentes, segundo o campo que recortamos para conversar, falar, estudar ou investigar. Um desses nomes é experiência.
O pragmatismo vem do grego pragma, sendo que esse termo origina-se de prasso, que quer dizer "prática", "feito", "façanha" e similares (e que origina também a palavra práxis). Ora, o que é considerar a prática e o feito senão considerar a experiência? Experiência é exatamente isto: o que se monta conjunturalmente pela prática, feito, façanha - práxis. Assim, o mundo é um conjunto de relações, ou, falando de outro modo, um conjunto variável de experiências. Caso o homem queira obter as melhores maneiras de se conduzir no mundo, ele que entenda essa característica relacional e prática do mundo, ele que dê atenção para a experiência - esta foi a novidade do pragmatismo.
Correlativamente, essa mesma tese entrou para o âmbito epistemológico.
Um caminho (inicial) para termos em mãos algo que se possa chamar de conhecimento é o de aceitar a definição de Platão; chamaríamos conhecimento a "crença verdadeira justificada". Nessa acepção, para ter em mãos crenças que sejam conhecimento, é necessário ter também enunciados verdadeiros. Tendo isso em mente, William James definiu o pragmatismo como um "método para a verdade" antes que uma "teoria da verdade".
A verdade é um qualificativo que podemos dar a determinados enunciados. Os lógicos e epistemólogos dizem que podemos ser correspondentistas e dizer que um enunciado X é verdadeiro se e somente se ele corresponde ao fato que descreve. Ou então que podemos ser coerentistas e dizer que um enunciado X é verdadeiro se e somente se ele é coerente com outros enunciados (verdadeiros) que dizem respeito ao que ele trata. Por sua vez, James negou que o pragmatismo devesse optar por uma ou outra postura desse tipo, e sim apenas mostrar como que um investigador sério deve agir se quer ter conhecimento. Um investigador sério jogaria suas fichas de aposta no enunciado que, diante da experiência - do investigador e de outros -, fosse aquele que estivesse mais cotado como candidato a ser verdadeiro. Assim, estaríamos levando a experiência em consideração, de modo a não jogar fora a prática da vida e na vida, a cada investigação científica ou corriqueira.
Peirce, James e Dewey foram os três estadunidenses que criaram o pragmatismo enquanto uma escola filosófica. As diferenças nucleares entre eles apareceram exatamente na noção de experiência.
Charles Peirce (1839-1914) tendeu a considerar a experiência como experimento, dando ênfase para a prática controlada, como a que se faz em laboratório. James tendeu a ver a experiência como experiência de vida, em um sentido psíquico - vivência, como poderíamos dizer. Dewey chegou a uma noção mais ampla, tomando a noção de experiência como experimental e vivencial, além de dimensioná-la historicamente.
Por isso mesmo, em Dewey, um enunciado verdadeiro passou a ser aquele apresentado como um forte candidato a ser aprovado diante da assertibilidade garantida. O que é? Assertibilidade garantida é a propriedade de um enunciado de ser uma afirmação com o máximo de garantias possíveis - sendo que sabemos que toda garantia é válida apenas dentro de um tempo e de um lugar.
Os pragmatistas mais recentes - Richard Rorty e Hilary Putnam à frente - passaram a considerar, como elemento central da experiência, a linguagem. Mas não a tomaram como um código pré-instituído. Caso assim fizessem, estariam tratando a linguagem segundo uma visão essencialista, contrária à postura pragmatista. Eles a tomaram como comunicação.
Resumindo ao máximo: os neopragmatistas aprenderam com a filosofia analítica a dar a devida importância à linguagem, mas entre dizer que nos comunicamos porque possuímos a linguagem, ou somos usuários de alguma linguagem porque nos comunicamos, ficaram com essa última acepção. Desse modo, endossaram uma perspectiva mais próxima da de Wittgenstein II e do pragmatista americano que dominou a cena da filosofia analítica em meados do século XX: Willard Van Orman Quine.
Por isso, buscaram trazer Donald Davidson para as fileiras do pragmatismo. Davidson foi o filósofo que, a partir de Quine, insistiu na ideia de que a linguagem não é um clube ou um partido ao qual nos filiamos, ela é um ser vivo em evolução darwiniana, que é feito e reconstruído sem direção predeterminada, e o que conta para tal é a nossa imaginação em comunicação.
Nos últimos vinte anos do século XX, o debate em torno do pragmatismo ganhou notável visibilidade, lembrando os tempos pioneiros de John Dewey. Filósofos de linhagens distintas se deslocaram para o campo pragmatista. Um caso notável foi o de Habermas.
Herdeiro direto da Escola de Frankfurt e, de certo modo, seu maior expoente vivo, Habermas começou a se relacionar com o pragmatismo lendo Peirce e, depois, mais profundamente, em crítica a Rorty. No decorrer do debate com Rorty, migrou para posições próximas do pragmatismo, como as de Dewey e Putnam. Mas manteve uma divergência sobre o tema da verdade com Rorty.
Contrariamente a Rorty, Habermas acredita que o trabalho tradicional da filosofia, mesmo no campo pragmatista, é o de encontrar fundamentos. Nisso, seu projeto se afina, nos Estados Unidos, com o de Hilary Putnam, e na Europa, com o de Karl Otto Apel. Todavia, seu projeto não é igual ao desses filósofos.
Para Putnam, uma proposição é denominada verdadeira se ela puder ser justificada sob condições epistêmicas ideais. Apel entende que uma proposição pode ser chamada de verdadeira se puder vencer argumentativamente em terreno de concordância, alcançada em uma comunidade ideal de fala. Habermas, por sua vez, diz que uma proposição é verdadeira se ela puder vencer em uma condição de concordância, alcançada em uma situação ideal de fala.
A divergência de Habermas com Rorty, portanto, é emblemática, pois ela é modelo da divergência da maioria dos pragmatistas que buscam fundamentos com os que abandonaram qualquer projeto fundacionista.
Rorty e Habermas partem de um ponto comum. Eles assumem o que os lógicos atuais dizem: quando qualificamos um enunciado p como "verdadeiro", estamos em uma situação diferente daquela em que falamos que um enunciado p é "bem justificado". Isso é resumido assim: a verdade é sempre objetiva, o que é subjetivo é o que fornecemos como justificações para afirmar ou não um enunciado como verdadeiro. Rorty concorda com isso, é claro, mas ele pondera que em um determinado limite não temos como separar, de modo rígido, uma coisa de outra; isto é, não temos como colocar de um lado "p é bem justificado" e de outro "p é verdadeiro". Pois, dizer que um enunciado p qualquer é verdadeiro, é algo válido para um determinado momento T, para um específico lugar X, e para um encontrável público W. Todo e qualquer enunciado, ao ser chamado por nós de "verdadeiro", está sendo qualificado como "bem justificado", ou seja, "verdadeiro neste momento, para este público que está aqui, segundo as informações que este público possui".
Habermas replica que "verdadeiro" é diferente de "bem justificado", e que só entendemos o que é um enunciado qualificado como verdadeiro, exatamente à medida que o distinguimos claramente de um enunciado chamado de justificado. Para ele, quando dizemos que um enunciado p é "bem justificado", já sabemos que p pode não vir a ser bem justificado em outro tempo, em outro lugar e para outro grupo. Mas, quando dizemos que um enunciado p é "verdadeiro", estamos informando que p é "bem justificado" para todo e qualquer tempo, lugar e público. Habermas entende que o que os manuais afirmam sobre a distinção entre "verdadeiro" e "bem justificado" não é um caso, mas é todo o caso.
No entanto, Rorty tem perguntas contra Habermas que são de tirar sono do filósofo alemão: como que alguém pode dizer, sem pestanejar, que há enunciados que podem ser qualificados como "verdadeiros", independentemente de um tempo, um lugar e um público? Se Habermas vê a linguagem como um pragmatista - que é sua posição atual - como ele pode defender a validade universal de "é verdadeiro" para enunciados chamados por ele de verdadeiros?
Habermas tem uma teoria filosófica para sustentar o que afirma? Sim. Resumindo ao máximo: para Habermas, enunciados verdadeiros com validade universal podem ser admitidos como possíveis, porque, se assim não for, a própria linguagem, que constatamos empiricamente como algo existente, não poderia existir.
Ou seja, para ele, o uso da linguagem nos mostra que antes de qualquer coisa, o que faz da linguagem uma linguagem - sons que provocam comunicação - é sua característica de ser algo da ordem do intelecto. Nada há na linguagem anterior à sua função intelectual. Ela é, do ponto de vista filosófico, comunicação cognitiva. Ela é, antes de tudo, o que cria e regra o entendimento entre falantes. Ele acredita que Rorty não percebe que, no interior de toda e qualquer linguagem, há um mecanismo que faz que em um determinado nível se estabeleça o entendimento e o consenso imediato.
Um exemplo corriqueiro em favor de Habermas é o que segue. Quando digo para você "feche a porta", trata-se de uma ordem, mas este enunciado "feche a porta" só soará como algo que manda você fechar a porta e, portanto, o subjuga ao lhe colocar uma ordem, se antes disso você toma o enunciado como significativo e inteligível. Você, que escuta a ordem, tem de antes de sofrer a coerção do enunciado, já saber algo referente à porta, ao verbo fechar e ao ato de fechar e abrir portas.
Portanto, para Habermas, a própria linguagem empírica, em seu uso, permite ao filósofo que a observa dizer que nós todos, à medida que falamos e nos comunicamos, mostramos claramente que existe uma "concordância alcançada por meio de argumentos em uma situação ideal de fala"; além disso, tal entendimento se dá pelo fato de que a verdade é verdade para um e para outro, em um final de argumentos díspares trocados. Isso, que seria uma característica (filosófica) da linguagem é, então, para Habermas, a garantia (ideal) de que, na nossa conversação cotidiana podemos, sempre, apostar em um horizonte de entendimento intelectual mútuo.
A visão de Rorty, diferentemente, casa-se mais com a de Donald Davidson. Rorty não confere à linguagem nenhum poder de se fixar como algo ontologicamente inflacionado. Ele leva a sério a tese de Davidson de que a linguagem - o que linguistas e filósofos entendem como linguagem - não existe. O que existe é a comunicação. Os falantes se entendem, ora mais ora menos, mas se entendem. E isso é o que podemos dizer a posteriori, sem termos de conferir qualquer "poder cognitivo" para o que seria próprio da linguagem ou de uma linguagem. Podemos, para criar uma teoria da interpretação construtiva, lidar com o princípio da caridade e a imputação de racionalidade etc. Mas não há razão para disso tirar que somos, nós os "bípedes sem penas", dotados de linguagem inata ou que aprendemos a linguagem como o que está feito pela cultura, e que então nos seria transmitido individualmente.
Aprendemos, sim, uma linguagem, uma vez que vivemos em culturas que isso que comumente chamamos de uma língua é disponibilizado para nós. Mas, como Davidson aposta, isso não se dá como imaginam alguns psicólogos ou filósofos que insistem em colocar a linguagem como uma peça acabada, e que teria como história apenas alguns episódios sujeitos aos atos reformistas de uma "evolução cultural". Do ponto de vista que deveria interessar à descrição filosófica, não temos muito que aprender sobre a linguagem se a tomamos ou como um pacote pronto chamado "linguagem", como um partido ou clube ao qual nos filiamos. Davidsonianamente, Rorty diz que não há razão para descrevermos a linguagem como uma instituição à qual nos filiamos pela via de estruturas inatas ou pela via de aprendizado. É mais útil apenas ficarmos com a descrição da triangulação e, então, mostrar que a comunicação é o que ocorre; é como vamos construindo elementos comuns em trocas, interações que, depois, até podemos chamar de linguagem.
A filosofia de Davidson, nesse ponto, tem muito de semelhante à valorização, ainda que de outro modo, da experiência, o velho conceito usado pelos pragmatistas clássicos e, também, por Quine. Na tese de Davidson, construímos e reconstruímos o que, depois, por conta de nossa cultura, dizemos que é um conjunto com vocabulário, semântica, sintaxe e assim por diante. Admitir a linguagem como uma instituição é reificar a linguagem de um modo desnecessário. Levar adiante a reificação da linguagem, a essa altura, seria desconsiderar de um modo pouco razoável o que Davidson nos ensinou a evitar. Isso não seria apenas inútil, mas, no caso de Rorty, nocivo, pois a reificação da linguagem tenderia a desembocar, novamente, na criação do fundacionismo. Não seria isso, de certo modo, um pouco o que ocorre com Habermas?
Assim, Rorty responde que ele discorda da teoria de Habermas não porque ela é errada. Rorty acredita que, ainda que ela possa ser correta, o que importa para ele é que ela é inútil. Ou seja, de que vale saber, a não ser para preencher um livro de filosofia (que poderia ser preenchido de outra maneira), que há algo como a "concordância alcançada por meio de argumentos em uma situação de fala ideal" se, na prática cotidiana, sempre teremos uma situação não ideal de fala? Em uma situação real, cotidiana, a linguagem é um conjunto de sons que, se ganham significado, assim o fazem imiscuídos em uma rede de relações que implicam poder, subjugação, ideologia, pressão, hierarquias, propaganda, retórica, lavagem cerebral etc.
A tréplica de Habermas é interessante: se não temos uma situação ideal de fala na vida cotidiana, se só a temos no campo da fundamentação ideal, no campo filosófico, já temos tudo o que precisamos ter, pois é esse campo que nos diz, enquanto pessoas que querem garantias filosóficas, que podemos e devemos construir uma situação ideal de fala aqui, no nosso mundo empírico, o mundo do cotidiano. Isso nos faz pensar, enfatiza Habermas, em criar um mundo onde não exista a violência, não exista o poder interferindo o discurso, a ideologia, todas as diferenças que impedem os falantes de se colocarem horizontalmente uns em relação aos outros.
Ora, Rorty vê esse passo habermasiano como um perigo. Em sua opinião, se vamos seguir Habermas, podemos terminar construindo uma utopia que precisa se realizar. Vamos acabar criando, no papel, a sociedade ideal, perfeita e em detalhes, e então vamos achar que nada temos a fazer senão a tiramos do papel. Iremos desejar vê-la efetivada fora do papel, e então viveremos sob tal utopia. Logo estaremos falando que tal sociedade utópica, ainda que seja a sociedade democrática, é a mais condizente com a natureza humana, a única que pode trazer felicidade para todas as pessoas, aquela que vai terminar com a exploração e o engodo, enfim, logo ela se transformará em um dogma. Senão para todos, ao menos para os que a tiraram do papel. Isso é bom? Rorty e nós todos sabemos que não. Sabemos o quanto todas as utopias detalhadas nos tornam vítimas de nós mesmos. O nazismo e o comunismo, no século XX, já nos bastaram para mostrar isso. Foram utopias detalhas em livros, e que, ao serem levadas adiante por "anjos tortos", aqueles anjos que atendem nossas preces de forma literal, transformaram-se em prisões infernais. Desde sempre, ainda quando só estava nos livros, elas já eram prisões.
Habermas avalia que Rorty, apesar de condenar tal prática, já vem fazendo isso, ao defender o modelo ocidental de democracia. Segundo Habermas, o que ele próprio tem feito, é o que de fato Rorty faz em aliança com ele!
Rorty diz que não é bem assim. E, aqui, de fato, há a diferença que faz diferença na prática - como quer um pragmatista. Uma coisa é afirmar uma utopia "vaga e contingente", outra coisa é detalhar como tal utopia deve funcionar. Rorty não aposta na democracia como aquele regime que há de se perpetuar por meio de características que não lhe seriam con tingentes, mas sim inerentes, imutáveis, eternas - "naturais". Para Rorty, não há como ser democrata e dizer que "a democracia deve ser garantida como democracia a qualquer preço". Aliás, não há como ser democrata e traçar em detalhes o que é uma sociedade democrática. Pois a democracia é, por si mesma, por definição, o regime de criação de pessoas diferentes. Tais pessoas, em democracia, serão mais e mais diferentes. Serão pessoas tão diferentes que poderão, em determinado momento, odiar a diferença e toda sociedade que a garante, como a sociedade democrática, cujo papel não é só fazer valer o que quer a maioria, mas fazer valer o respeito ao que as minorias desejam. Então, no limite, a democracia pode criar uma geração inteira que queira suprimi-la, ou que, ao contrário, queira construí-la de um modo que nós, os que vão ficar no passado, jamais imaginaríamos que seria uma democracia.
1 - Númeno ou noumenon vem do grego voo µevov, do verbo vo que é "penso", "quero dizer" ou "referir". Já na sua acepção original a ideia é de um evento ou um objeto em si mesmo, independentemente dos sentidos. O que se opõe ao noumenon é o phenomenon, o que aparece, o que é por meio dos sentidos.
Paulo Ghiraldelli Junior
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















