



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Quando Rousseau ficou mais velho, ele abandonou o relógio. Kant, ao contrário, envelheceu apegado ao objeto, ou melhor, ele próprio substituiu o relógio de sua cidade, Kõnigsberg. Diziam os habitantes da cidade que, quando Kant saía para o seu passeio, o relógio da Catedral era ajustado, tamanha a pontualidade do filósofo. Os estudantes atuais ficam curiosos com a personalidade de Kant. Sua solidão, sua meticulosidade e sua vida extremamente organizada parecem mais estranhas ainda aos estudantes quando eles percebem que a forma de Kant escrever obedece também este específico tipo de rigor.
É estranho pensar em um filósofo como alguém com horários para tudo, meticulosamente calculados - a imagem popular do filósofo é a de um personagem descuidado, pouco afeito ao planejamento. Os estudantes reclamam disso, querem de volta a imagem popular do filósofo. Todavia, lembro-os que Kant já não pertencia mais ao mundo filosófico de seu próprio século. Sua figura projetava o que viria a ser o filósofo do século XIX, quando boa parte dos filósofos se fez professor universitário. Descartes se empregou como soldado, Bacon foi secretário de poderosos, Hume atuou como bibliotecário e Rousseau foi escritor errante. Em contrapartida, Kant, Hegel e Schopenhauer foram professores universitários. Aliás, Kant, ele próprio buscou enfrentar os problemas teóricos gerados por essa mudança, essa transformação do perfil do filósofo.
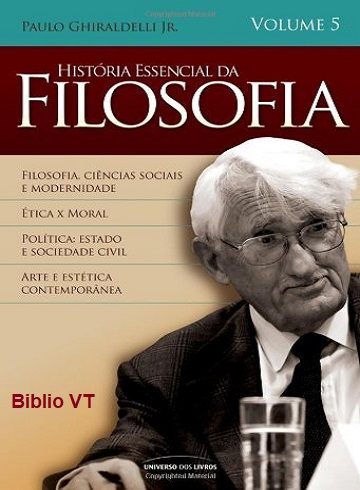
Vivendo sob o comando de Frederico, um dos chamados déspotas esclarecidos, Kant elaborou um completo raciocínio sobre a convivência entre os homens ditos esclarecidos e o governo. Para Kant, o homem esclarecido em uma cidade sob o comando de um príncipe também esclarecido - como ele imaginava, então, a sua Kõnigsberg - poderia, sem problemas para ele próprio ou para a sociedade e para o Estado, exercer o "livre uso de sua razão". Não haveria nenhum prejuízo se o homem esclarecido, fora do seu trabalho nas instituições particulares ou governamentais, dirigindo-se também a uma plateia esclarecida, viesse a criticar a sua própria instituição ou qualquer aspecto da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, no contexto do seu trabalho, ele deveria continuar seus afazeres, obedecendo a ordem estabelecida. Kant entendia que, com essa fórmula, a sua terra iria se transformar paulatinamente em um bom lugar, sem que viesse a sofrer, no processo de esclarecimento geral - que ele acreditava estar inscrito na história -, qualquer tipo de convulsão social, como as que ocorreram na França, ou seja, as rebeliões sucessivas da Revolução Francesa.
Todavia, essa solução de Kant não era alguma coisa sem problemas. Ao contrário, para ele próprio uma solução desse tipo era um problema. O caso do papel do filósofo havia se tornado um drama. O trabalho do filósofo, como Kant o compreendia, era o do uso livre da razão. Mas o exercício da crítica, nesse caso, não era para um público já esclarecido, e muito menos era algo levado a cabo fora do trabalho. A atividade do filósofo, como professor de filosofia, não cabia na fórmula que ele mesmo encontrou para conciliar os resultados do uso livre da razão com os ditames da condição de funcionário. Nesse caso, Kant teve de abrir uma exceção: o professor de filosofia, uma vez filósofo em sala de aula, seria o único a quem se daria o direito de crítica geral.
Kant confiava nessa sua solução de modo sincero e, também, na capacidade de julgamento de Frederico a respeito do assunto. Ficou profundamente decepcionado quando viu que Frederico não só não aceitou essa sua solução como também, logo depois, veio a censurar algumas de suas obras.
Talvez Kant não tenha percebido que, na verdade, seu inimigo não era Frederico. Este nada era senão o passado. Seu verdadeiro concorrente era o século que viria. Não propriamente o movimento romântico que, enfim, tentaria fortalecer a metafísica. O século seguinte não estaria preocupado, em termos prioritários, com as disputas entre a teologia e a filosofia ou com o problema da autoridade do príncipe diante do uso da razão livre do súdito, ou cidadão e, principalmente, do filósofo. No século XIX, o adversário da filosofia foi outro. O século XIX desprestigiou a filosofia como o XVIII havia desprestigiado a teologia. Ambas perderam espaço para a ciência.
A ciência saiu na frente no século XIX. A física tornou-se modelo para tudo. A metafísica entrou em baixa. Iniciou-se uma época em que aos poucos a palavra filósofo já não implicava mais em um estudioso de vários assuntos. Caiu por terra a ideia consagrada do professor de filosofia cujo trabalho seria o de mostrar o seu sistema que, enfim, poderia muito bem dar cobertura para todas as atividades do cosmos. Aliás, a própria filosofia como um todo passou a ser vista como uma atividade pouco frutífera diante do novo modo de pensar, o científico. À ciência caberia o uso livre da razão. Ela se viu cada vez mais entusiasmada com os métodos positivos, ou seja, os do empirismo, e com suas chances de gerar tecnologia e mudar o mundo.
Todo e qualquer saber que quisesse se mostrar legítimo parecia ter de vir com um rótulo bem claro com os seguintes dizeres: "Isto é ciência". Não era só o caso de separar de uma vez por todas a física da metafísica, mas também o caso de trazer para o campo da metodologia das ciências os estudos sobre a mente individual, a sociedade, a política e a educação.
Os filósofos não desapareceram, é claro, mas vários deles, já no século XX, ainda que envolvidos nos estudos da tradição da disciplina -em especial as discussões da metafísica-, tiveram de se ocupar da ciência de uma maneira diferente, reconsiderando a metodologia que até então utilizavam. Definitivamente, eles tiveram, dois séculos após o primeiro forte brado de David Hume contra a metafísica e em favor de uma visão empirista, de levar a sério a metodologia experimental associada a uma teoria que se pretendia antes descritiva que normativa.
Na busca de filosofar a partir da admissão da proeminência das ciências naturais, Augusto Comte criou a "física social" como uma espécie de protossociologia. Todavia, como área de estudos circunscrita a uma disciplina universitária, foi Emile Durkheim o responsável pela criação da sociologia. Aliás, em certo sentido, ele a criou explicitamente contra a filosofia.
A sociologia nasceu contra a filosofia? Sim, neste aspecto: a filosofia moral ou todo o campo da ética que, enfim, estava encarregada de falar sobre o comportamento humano, não seria a melhor forma de conversar de modo culto a respeito da sociedade. E isso por uma razão simples: como falar de comportamentos, tão diversos em cada povo e entre os povos, querendo antes mudá-los ou avaliá-los que entendê-los? De que valeria a filosofia moral e todo o estudo da ética se não fosse para ter consciência de que o relativismo, a forma de dizer que cada cultura tinha sua razão de ser, não fosse levado a sério? Levar a sério o relativismo não deveria implicar em uma atitude voltada para o entendimento das culturas antes da avaliação delas diante de padrões paroquiais? Julgar por padrões paroquiais as culturas e feitos humanos seria ceder ao próprio relativismo de modo fácil, e não levá-lo a sério para tentar sair dele de uma maneira melhor que até então os filósofos haviam tentado.
Ninguém conviveu tanto com o relativismo antropológico que Durkheim e seus parentes pesquisadores. Ele se via como tendo condições de dar uma resposta ao relativismo de uma maneira que a filosofia não havia conseguido fazer.
A corrente de pensamento de Durkheim, o positivismo francês, dominou boa parte das universidades do mundo e, durante todo o século XX, mostrou uma força enorme no sentido da ampliação e enriquecimento da teoria social. Incorporou o saber antropológico da filosofia e ampliou esse conhecimento, usando novos métodos - uma busca pela pesquisa empírica e pelo tratamento estatístico dos dados obtidos. A ideia básica era a de respeitar as provocações do relativismo e, no entanto, refutá-lo a partir de um conhecimento objetivo da própria sociedade. A objetividade alcançada pelas ciências da natureza deveria ser possível também ao que era produzido pelo homem, como os elementos da cultura e a própria sociedade como um todo. Isso, que era uma esperança nos tempos de Comte, passou a ser algo que parecia ser muito bem realizado no tempo de Durkheim. Essa era a própria visão de Durkheim sobre o assunto.
A universidade abrigou essa nova ciência. Sem interromper a disciplina filosofia ou a teologia, elaborou grades curriculares capazes de dividir o saber e as especialidades dos professores. A tese da necessidade das especialidades e de áreas particulares, sem que fosse necessário recorrer à filosofia e menos ainda à teologia para conferir uma unidade ao conhecimento e ao julgamento moral, ganhou a adesão da maioria dos professores. A universidade passou a ser cada vez menos um lugar de estudos desinteressados e, sim, um colégio de profissionalização de jovens. Aos poucos, toda e qualquer atividade da vida profissional moderna se fez correlata a um curso universitário, sendo este, então, o lugar que deveria formar o jovem na profissão determinada, recortada segundo um determinado conteúdo e de acordo com uma demanda social.
Quando do nascimento da sociologia, as teorias da sociedade desenvolvidas por Durkheim e Weber estiveram preocupadas, antes de tudo, com a própria descrição da modernidade. Os primeiros sociólogos se mantiveram envolvidos fundamentalmente com a descrição das condições de mudança e conservação social em uma sociedade cujas leis haviam sido estabelecidas a partir das chamadas Revoluções Burguesas - a Revolução Industrial, a Revolução Americana (Independência), a Revolução Gloriosa Inglesa e a Revolução Francesa. Além disso, eles recolheram para si a tarefa de estudar de modo científico, o que antes era cabível à filosofia prática, ou seja, os estudos sobre ética e moral.
Durkheim se interessou pelo estudo científico da moral. Afinal, era nesse exato campo que o relativismo estava presente com sua maior força: o que é e o que não é válido como comportamento nas várias regiões que poderiam ser engolfadas pela noção de modernidade?
As perquirições de Durkheim tentaram resolver impasses deixados pelo kantismo neste campo da filosofia prática, ou seja, no campo ético-moral. Ele se preocupou com o caráter supra-histórico do Imperativo Categórico kantiano. Seus estudos, nas últimas duas décadas do século XIX, perseguiram o objetivo de construir uma "ciência positiva da moral", e não uma "filosofia moral" ou uma "moral científica". Trazendo essas questões para os problemas de sua época, Durkheim queria saber se a divisão do trabalho social, imanente ao desenvolvimento social urbano, apresentava potencial para ser o esteio de uma sociedade harmônica ou se, como diziam na época muitos socialistas, tal coisa nada seria senão o fomento da corrosão social e do abalo da coesão interna da sociedade moderna.
Por que a "divisão do trabalho? Ora, também a divisão do trabalho trazia um germe de relativismo. Não se tratava do relativismo entre culturas regionais diferentes, mas o relativismo entre perspectivas tão particulares, criadas por cada grupo de uma mesma sociedade, que a forma de vê-las como legítimas até poderia ser assimilada a um tipo de relativismo. O que poderia haver de comum entre tantos grupos, vigentes na sociedade? E a diversidade de grupos profissionais não traria, enfim, uma forma de isolamento deles próprios e do próprio indivíduo na sociedade, gerando o problema do perigo do rompimento do tecido social? Não estavam corretos aqueles que diziam que essa diversidade de profissões e afazeres modernos era o fomento do fim da solidariedade, elemento necessário para a vida em sociedade?
Na sua tese de doutorado, A divisão do trabalho social, ele estudou as especialidades a partir da consideração de dois tipos de sociedade: o que ele chamou de 1) sociedade tradicional e de 2) sociedade moderna. Na primeira, a "consciência coletiva" - as crenças, sentimentos etc., partilhados por todos os membros de uma sociedade - é vista como forte, unitária e elemento de homogeneidade da vida social. Consequentemente, nesse tipo de sociedade os homens pouco se diferenciam e a coesão social gerada é fundada naquilo que ele chama de "solidariedade mecânica". Nesse caso, a divisão do trabalho tem forma rudimentar, geralmente, não passando de divisão sexual. Na segunda, uma forma determinada de produção estende e aprofunda a divisão do trabalho; a diversificação, as especializações e, consequentemente, a diferenciação entre as pessoas se mostram bastante intensificadas. A "consciência coletiva" se enfraquece, abrindo espaço para a "consciência individual"; a própria "consciência coletiva" muda de caráter, ela se fortalece em um ponto específico, que é o culto ao indivíduo. A crescente divisão do trabalho e as especializações geram uma também crescente interdependência entre os membros da sociedade. O resultado é o desenvolvimento de uma coesão social baseada não mais na igualdade das pessoas e no total envolvimento da "consciência individual" pela consciência coletiva, mas, sim, baseada na diferenciação e complementaridade entre os membros da sociedade. Ter-se-ia, então, uma situação social de império da "solidariedade orgânica" em relativo detrimento da "solidariedade mecânica".
Durkheim não advogou uma base moral do homem criada a partir de generalidades. O homem estaria destinado a preencher uma função especial no "organismo" social e, por isso mesmo, deveria aprender, antecipadamente, o seu papel de homem. Ora, com isso Durkheim não falou em favor de uma especialização precoce da criança, mas, deixou claro que a educação na sociedade moderna desenvolveria (ou teria de desenvolver) um trabalho de orientação vocacional, e que este trabalho estaria inevitavelmente direcionado no sentido de colaborar com a potencialização da "solidariedade orgânica" -a educação estaria aí, naturalmente, participando do desenvolvimento de formas de coesão social, que seriam superiores, e se integrando num projeto de conservação da sociedade no seu funcionamento harmônico.
Estudos na linha durkheimiana procuraram transferir a metodologia das ciências naturais para as ciências da sociedade. Cada fenômeno social, como Durkheim disse, era para ser estudado "como coisa". Ou seja, cada fenômeno social ou humano era para ser tratado em suas conexões causais, de modo objetivo, como um astrônomo trata os planetas, sem perguntar a eles sobre vontades e intenções. Planetas, pedras e máquinas são coisas. As coisas estão sujeitas a relação de causa e efeito. Explicar o que fazem em determinadas situações - os fenômenos - nada é senão descrever as relações de causa e efeito a que estão envolvidas. Assim, o teórico da sociedade, na visão durkheimiana, faria diferente do filósofo: antes a descrição positiva dos fenômenos que a construção de uma utopia que, enfim, no âmbito do campo filosófico surgiria para julgar os fenômenos e criticá-los. Uma visão assim não seria positiva. Sendo crítica, seria negativa. Por ser o oposto disso, a posição de Comte-Durkheim ganhou o nome de positivismo.
A posição utópico-crítica, para Durkheim, era o que os filósofos haviam levado adiante até então. A sociologia, diferentemente da filosofia moral, não teria que julgar absolutamente nada. Diferentemente do filósofo, o sociólogo teria de dizer como as coisas são, não como deveriam ser. O positivismo tinha de transformar a teoria social em ciência da sociedade - uma ciência diz o que, e não se ocupa do dever ser.
No contraponto à escola francesa positivista, ou seja, como uma forma de diferenciação do que Comte fez, nasceu na Alemanha o historicismo, com Wilhelm Dilthey. No entanto, Dilthey ainda se via como um filósofo. Depois dele, Max We ber foi quem se tornou o clássico representante dessa escola, já com o título de sociólogo e antropólogo.
Assim, ao lado do positivismo francês, as ciências sociais se desenvolveram em terras germânicas, também preocupadas com problemas deixados pelo kantismo no campo moral. Durkheim viu problemas no caráter supra-histórico da "razão prática", Dilthey, por sua vez, incomodou-se com o caráter supra-histórico da "razão teorética".
Perguntando como é possível a matemática, a física e a metafísica, Kant quis encontrar os condicionantes da razão; ele queria estabelecer, portanto, a crítica da razão. Todavia, para Dilthey, Kant havia tomado a razão de modo parcial. Precisar-se-ia perguntar como é possível o conhecimento histórico e, assim, fazer a crítica da "razão histórica". Ele se propôs a essa tarefa.
Dilthey concordou com o positivismo e com o empirismo quanto à afirmação de que toda ciência deve ir aos fatos e que todo conhecimento advém da experiência. Mas seu entendimento desses postulados foi muito peculiar. Os fatos, como objetos do conhecimento, seriam somente os fatos da consciência e da experiência a ser considerada apenas a experiência interna da consciência. Nesse caminho, ele escreveu várias obras, com o intuito de delimitar "as ciências do espírito". Nesses escritos, Dilthey definiu a noção de experiência interna como "experiência total": um momento da vida anímica em que as representações se forjam necessariamente conjugadas a sentimentos e volições. O encadeamento dessas experiências, a conexão das "vivências", assume configurações momentâneas determinadas, consubstan ciando a "estrutura da vida psíquica" de cada ser humano. Essa "estrutura da vida psíquica" não é rígida, não pode ter categorias fixas que se debruçam sobre o mundo, mas é, sim, histórica, em constante transformação na sua relação com o meio. A "estrutura da vida psíquica" se relacionando com o meio seria, em última instância, a responsável pela origem e desenvolvimento das obras culturais. Assim, o caráter histórico das obras culturais e dos sistemas filosóficos adviriam do caráter histórico e relativo da própria vida anímica.
Essa sua teoria, porém, não o satisfez. Segundo sua própria avaliação, ela seria um alimento para o ceticismo, advindo do relativismo. Para além de toda mudança e de toda transformação posta por essa teoria, o que poderia ser tomado como fixo? Segundo sua própria visão, ele tinha de responder a essa pergunta para sentir sua formulação atendida.
Para Dilthey, o ponto de apoio, isto é, aquilo que ainda justificaria a atribuição de certa validade para o conceito de "natureza humana" tomado de maneira essencialista, estaria na função teleológica da "estrutura da vida psíquica". Nas suas transformações, essa estrutrura estaria sempre voltada para o trabalho de adequação de meios aos fins de autopreservação. A necessidade de autopreservação estaria sempre colocando a "estrutura da vida psíquica" no seu relacionamento com o meio, na tarefa de produzir ações e pensamentos cada vez mais universais e válidos e, assim, em um grau mais alto, a produzir filosofia, arte e religião.
Na teoria de Dilthey, filosofia, arte e religião surgiram como tipos de concepção do mundo e, como as obras culturais, ti nham sua gênese radicada no desenrolar dos processos da vida anímica. Consequentemente, a "psicologia descritiva", na medida em que viesse a apreender o desenvolvimento da vida anímica, seria a ciência fundamental das "ciências do espírito" - o nome que ele deu para o conjunto de ciências que, hoje, em nossa linguagem popular, chamamos de ciências humanas.
Estabelecido isso, Dilthey acreditou estar de posse das armas necessárias para lidar com o relativismo. Por um lado, lançou mão daquilo que chamou de advento da "consciência histórica". Com essa noção, nomeou e buscou descrever o hábito de pensar historicamente, que seria próprio do século XIX e estaria em oposição ao pensamento naturalizante pouco relativo, hegemônico no século anterior - exatamente o que o positivismo estaria, naquela mesma época, defendendo. Por outro lado, para atenuar o relativismo inerente à "consciência histórica", propôs a ideia de uma razão que, apesar de mutante, teria algo de fixo a ser mais bem estudado pela "psicologia descritiva", que seria a "conexão estrutural de caráter teleológico". Posto isso, Dilthey acreditou ter atenuado o relativismo e forjado uma nova ótica, capaz de reconstruir as "ciências do espírito".
Na Introdução às ciências do espírito, Dilthey falou sobre a história, tomando como ponto de partida a existência de dois campos distintos de conhecimento: as "ciências da natureza" e as "ciências do espírito". Como, em sua teoria, todos os fatos são fatos da consciência individual e, portanto, toda realidade dada ao homem se efetiva como "vivência psíquica", então, ambos os campos científicos são produtos da consciência. A "estrutura da vida psíquica", estando unificada em um indivíduo e pos suindo sentido interno dado pela "conexão teleológica da vida psíquica", é quem organiza a realidade no conhecimento dando-lhe significado. Esse processo ocorre tanto no que se refere ao conhecimento dos fenômenos naturais quanto nos sociais e propriamente humanos. Todavia, se no caso dos fenômenos naturais pode-se dizer que há imputação de sentido, dado que é da função do conhecimento organizar o real, torná-lo inteligível dando-lhe significado, no âmbito das "ciências do espírito", o sentido que o pesquisador encontra nos objetos estudados é, efetivamente, o sentido humano ali colocado quando da produção daquele objeto, daquela realidade. Assim, quando o homem forja o conhecimento no âmbito das "ciências do espírito", ele está apenas se defrontando com uma realidade que ele mesmo criou; portanto, qualquer imputação de sentido não lhe deve parecer artificial e aleatória se ele recorrer a sua "vivência" para "compreender" os fenômenos histórico-culturais. Para Dilthey, o homem, pela "vivência" - que implica entrar em empatia com o objeto estudado por meio da rememoração e imaginação -, pode se tornar uma espécie de coautor da obra ou do fato estudado e, para além da explicação, que se restringiria às exterioridades do objeto, podendo adentrar no objeto para compreendê-lo.
Ainda no mesmo livro, tendo teorizado sobre a ligação entre vivência e compreensão, Dilthey introduz mais um elemento: a tipologia das concepções do mundo. Para ele, o historiador é aquele que lida com vidas passadas, culturas passadas, acontecimentos passados etc., todo um mundo que lhe chega às mãos por meio de vestígios, com os quais ele elabora sua narrativa - esses vestígios são os documentos históricos. Tais documentos são objetivações de relações entre a consciência individual do homem do passado e o meio. Ora, como saber qual o sentido, o significado dessas obras humanas? Essa é a pergunta do historiador. No limite, para Dilthey, faz-se necessário encontrar os tipos de concepção do mundo, pois, cada homem, em cada época, imprime um sentido ao que ele próprio produziu e ao que outros produziram, e tal sentido se dirige segundo sua concepção do mundo.
Há, para Dilthey, três autênticas concepções do mundo: a filosófica, a artística e a religiosa. Para ele, o filósofo, o artista e o religioso "são distintos do homem-massa" e "mesmo dos outros gênios", porque possuem a capacidade de fixar na recordação a disposição do homem perante os complexos das coisas e, a partir daí, construir interpretações que combinam a experiência particular com a experiência geral sobre a vida. As concepções do mundo, filosófica, artística e religiosa, associam a experiência de vida e determinada imagem do mundo a um ideal de vida. O fundamento comum das concepções, radicado na "estrutura da vida psíquica" (a tendência interna da vida anímica que conduz o homem para a busca de conhecimentos e avaliações que se pretendem universais), é voltado para a tarefa de conferir segurança para o agir humano. Tal tendência, ainda que em um grau mais elevado, é aquela mesma que ele denomina conexão teleológica da vida anímica, presente em todos os homens e, por isso mesmo, o fator que os torna, em última instância, compreensíveis uns aos outros por meio de suas vivências. Assim, os homens do passado se tornam compreensíveis ao historiador. Dotadas de universalidade, as concepções do mundo poderiam conferir autoridade, pois possibilitariam ao homem uma ação menos sujeita a erros. Eis porque, então, segundo Dilthey, os santos, os grandes filósofos e os grandes artistas podem transmitir segurança aos fiéis e discípulos. As concepções do mundo devem ser cada vez mais bem descritas pela "psicologia descritiva" e fornecem, assim, um instrumental para o historiador. Esse, por sua vez, à medida que pode adentrar pelo trabalho com biografias, realimenta a própria "psicologia descritiva".
A ideia de antes compreender os fenômenos sociais que explicá-los, como esta se desenvolveu no historicismo alemão, especialmente a partir de Dilthey, ganhou um bom herdeiro em Max Weber. Ele não desprezou nexos causais, mas elegeu como elemento a ser perquirido, também, os motivos das ações humanas. Para não adentrar em um campo que poderia ser acusado de completo subjetivismo, ele observou as motivações como razões e padronizou estas a partir do que alguns filósofos chamariam antes de racionalidade que de razão.
Racionalidade, para Weber, não era outra coisa senão o trabalho de escolha dos melhores meios para realizar fins determinados. Ele viu, nessa ação, o padrão da própria conduta do homem moderno. E sua investigação, em determinado momento, passou a ser exatamente esta: por que o Ocidente se organizou em termos da ação-com-vista-a-fins, ou seja, utilizando a racionalidade. Ao propor uma teoria para explicar isso, dando margem não só para uma nova sociologia, mas, também, para a realimentação do que veio, mais tarde, a se configurar na filosofia social - com a Escola de Frankfurt à frente -, Weber terminou por descrever a modernidade segundo um quadro competitivo com o do positivismo francês.
Max Weber viveu a transição do século XIX para o XX. Todavia, ele fez uma espécie de caminho inverso da maioria dos pensadores que lhe deram asas ou que colheram nele algum alimento. Weber não foi o filósofo que se transformou em filósofo social, ele foi o sociólogo que tinha vocação para a filosofia - a filosofia social, com certeza.
Talvez por isso, Weber tenha se tornado o mais filosófico dos sociólogos, mas não pelo que queria escrever ou pelo que queria pesquisar. Ele, assim, fez-se porque escreveu sociologia como se ela não pudesse ser outra coisa que não filosofia social. Talvez tenha sido Weber, e não Marx e Nietzsche, o verdadeiro fundador da filosofia social. Ele agiu assim de dois modos. Primeiro, transformou seu neokantismo em uma epistemologia própria para a sua sociologia. Segundo, transformou sua compreensão sociológica da modernidade em um quadro filosófico dos tempos modernos.
A respeito da epistemologia, Weber deixou claro que ele entendia que o porto seguro do conhecimento não era o ponto de partida, como afirmava o positivismo francês. O ponto de partida não deveria ser visto como o do agente cognitivo com esquemas capazes de se deparar com os "dados da realidade", de forma bruta. O ponto de partida teria de ser entendido como o do agente cognitivo, colocando seus esquemas de apreensão sobre a realidade e, então, construindo os "dados" a partir de esquemas já alterados pela própria forma de interação com a realidade social.
Assim, a objetividade deveria ser grafada deste modo: "objetividade", com aspas. Com isso, Weber queria mostrar que a concordância teórica ao final de uma investigação não era nada natural e, sim, um esforço compreensivo que exigia empenho e perspicácia, uma vez que agentes diferentes partiam de pontos de vista diferentes.
Talvez, essa forma de Weber trabalhar, o da sociologia compreensiva, o tenha feito prestar mais atenção às cosmovisões de cada pessoa que quer "ler a realidade". E, então, por isso mesmo, ele se viu impulsionado a tecer considerações sobre a modernidade como um tema singular. A própria concepção do que é o moderno seria, de certo modo, o ponto de partida de uma visão de mundo, exatamente o esquema que iria construir o "fato social".
Não há em Weber um texto cujo objetivo é descrever a modernidade. A compreensão que ele formulou a respeito dos tempos modernos depende de uma leitura geral de vários de seus trabalhos. A visão da modernidade fornecida por Weber se cristalizou a partir de quatro expressões: 1) "separações das esferas de valor"; 2) "desencantamento do mundo"; 3) "burocratização das instituições"; 4) a modernidade como criadora do "especialista sem inteligência e o hedonista sem coração".
SEPARAÇÃO DE ESFERAS DE VALOR
Weber não falou de esferas de valor em oposição à esferas de fatos. Weber tratou todas as esferas de atuação humana como esferas de valor. O que são essas "esferas"? Simplesmente isto: são os campos das atividades humanas centrais. Basicamente três: a esfera da ciência e da técnica, a esfera da arte e a esfera da moral. Ele segue a tríade kantiana: conhecimento teórico, apreciação estética e normatividade ético-moral.
Weber lembra que todas essas esferas, no Ocidente pré-moderno, estão articuladas sob o imã da religião. A modernidade se configura quando essa imantação perde a força e, então, cada uma dessas áreas da atividade humana ganha autonomia e se separa uma da outra. Cria-se uma independência entre tais esferas. O próprio trabalho de Kant, ao falar do homem como ser transcendental, que é uma consciência que deve ser analisada em três campos, já se mostraria como fruto emblemático da modernidade.
Assim, a modernidade weberiana é a época em que o conhecimento e as teorias se fazem a partir de diretrizes intrínsecas e não mais em função de uma cosmovisão específica, como a cosmovisão religiosa. Ao mesmo tempo, a moral passa a ser uma moral laica, antes regrada pela cidade e pela profissão que por qualquer ordenação de doutrinas que seriam fornecidas pelas divindades. Não à toa, também foi com Kant que se estabeleceu a ideia de que a virtude é algo do âmbito específico da consciência, e que o ser moral não precisaria de uma religião para se comportar moralmente. O equivalente ocorre com a arte, que passa a retratar o mundo e, enfim, a ficcionar o mundo. A ideia de uma arte que é denominada arte porque representa os feitos do cristianismo perde a legitimidade. A arte fica em razão do belo. Ora, o belo é visto por Kant, por exemplo, como o que é da ordem do desinteresse. Uma visão estética do mundo, segundo o que a modernidade entende por estética, é exatamente uma visão que não serve a outra coisa senão a si mesma, ou seja, à fruição do belo.
Nos tempos modernos a ciência, a arte e a moral andam pelas suas próprias pernas. Paulatinamente se desgarram do que lhes dava unidade e sentido. A religião, em especial o cristianismo, é a fonte de sentido dessa unidade. A modernidade se faz como tal à medida que essa unidade não se verifica mais na vida dos homens. Assim, não raro, o observador dos tempos modernos, como Weber insiste, percebe como vários indivíduos sentem o peso da perda de sentido. Do final do século XIX até os dias de hoje, é fácil encontrar pessoas que lamentam a "vida sem sentido" provocada pelos "tempos modernos". O senso comum e a mentalidade popular sabem bem expressar isso que, na concepção erudita e weberiana, é a separação e autonomia das esferas de valor.
DESENCANTAMENTO DO MUNDO
Weber tomou de um modo bem específico a expressão "desencantamento do mundo". Não utilizou dessa expressão para falar da "perda de sentido". O "desencantamento do mundo" não foi apresentado por Weber como uma espécie de sentimento subjetivo-individual de angústia, de desespero. "Desencantamento do mundo" é, em Weber, a expressão que caracteriza uma situação geral que se abate sobre o homem que, se age segundo tal ordenação, pode ser chamado de homem moderno.
Em oposição ao não moderno, o homem moderno é aquele que olha para tudo que há ao seu redor (e para si mesmo) como o que é regido ou por causa e efeito ou por razões. Tudo é naturalizado. Aquilo que não pode ser explicado ou compreendido na base de relações causais ou relações racionais não é misterioso. Se não pode ser explicado, isso se deve a duas circunstâncias: ou porque quem quer explicar não foi educado para explicar ou porque a ciência ainda não encontrou as razões ou as causas do objeto focalizado. Então, ou por educação individual ou pelo progresso da ciência, o que deve ser explicado será explicado, basta aguardar. Deuses, gênios, demônios, forças extranaturais e assim por diante caem fora do horizonte do homem e, então, ele é de fato um homem moderno.
É claro que como um homem moderno empírico, qualquer um de nós, pode ter uma mentalidade arcaica. É isso que o faz tomar remédios e, ao mesmo tempo, fazer simpatias. Mas não é o fato de termos mais pessoas que agem desse segundo modo que, então, definimos se estamos ou não na modernidade. O que vale é que o que impera nas nossas relações, como fator preponderante: levamos a sério a ideia de um mundo a nossa volta que não funciona senão por relações que não são nem um pouco mágicas, mesmo quando nós mesmos estamos dominados pelo arcaico. O encanto ou o enfeitiçamento do mundo cai por terra aos nossos olhos - esta é a força dominante. Quando isso ocorre, a modernidade já bateu à nossa porta.
BUROCRATIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
Em um mundo em que as relações entre os homens e as relações entre os homens e a as coisas são todas passíveis de serem expostas segundo um relato racional (explicação por causas e efeitos ou por razões), por qual motivo se haveria de ficar sujeito ao acaso? As chances de previsibilidade e controle se tornam muito mais concretas, ou, ao menos, plausíveis. Para tal, as instituições privadas e públicas, as empresas e, enfim, o Estado devem ser regrados segundo um plano administrativo.
O plano administrativo tipicamente moderno é potencializado pela racionalização das ações. A racionalidade que Weber toma como a racionalidade tout court é aquela da ação levada a cabo por meios menos energeticamente dispendiosos. Então, a racionalização da administração é posta em prática à medida que idiossincrasias e gostos pessoais ficam de lado, cedendo espaço para atividades de rendimento ótimo. Nada melhor que uma burocracia profissional, completamente impessoal, para realizar tal façanha.
A burocratização torna-se o caminho pelo qual as instituições e o Estado se permitem chamar de entidades racionais. O mundo do trabalho é produto e produtor desse tipo de racionalidade que, com a burocratização das relações, torna-se um mundo que promete realizar o ideal de Comte: "prever para prover". O mundo em que esse lema se torna verdadeiro é o mundo moderno.
ESPECIALISTA SEM INTELIGÊNCIA, HEDONISTA SEM CORAÇÃO
As consequências psicossociais da "perda de sentido" e da "burocratização" produzem o típico homem moderno, caracterizado por Weber como "o especialista sem inteligência e o hedonista sem coração".
Essa figura típica é encontrada por nós em todos os lugares. Não raro, quando nos olhamos no espelho, somos capazes de nos reconhecermos nessa figura. Temos um saber profissional que se revela como um know-how especial. Precisamos ser experts em algo para sobrevivermos no mundo moderno. Isto é, o que nos faz aproveitáveis na vida moderna é nossa capacidade de sermos racionais ao máximo, e nossa profissão espelha isso. Ou somos aqueles que sabem mais de muito pouco, ou simplesmente somos chamados de diletantes e, então, somos colocados à margem do trabalho. Não temos de ter inteligência, temos de ter tirocínio. Nosso destino é o de experts, ou então perecemos.
Nossa condição de experts, em um mundo sem sentido, em que tudo é regido pela capacidade de fazermos a relações não saírem de seu traçado racional, tornamo-nos capazes de viver o momento, sem grandes preocupações com o futuro. O futuro virá, e ele será bom, acreditamos nisso. Nossa crença está baseada na ideia de que nada pode ocorrer de diferente no mundo se seguirmos os procedimentos racionais e burocratizados. Então, cada minuto pode ser vivido, cada dia pode ser aproveitado, tudo o que temos nas mãos é algo para aproveitarmos ao máximo e, após isso, descartarmos. Vivemos, sim, um tipo de hedonismo. Mas é um hedonismo caricato, pois nosso coração é incapaz de se regozijar com a nossa ampliada capacidade de usufruir dos bens que geramos e novos caminhos que abrimos. Não temos o coração educado para a verdadeira doutrina do hedonismo.
Podemos ficar horas na praia, como nenhum outro homem do passado conseguiu ficar, uma vez que tinha de parar sua vida para voltar ao trabalho, ou seja, garantir os meios de sobrevivência; todavia, todo esse tempo que ficamos na praia, estranhamente, nós ganhamos, de companhia, um tédio insuportável, pois não temos nosso laptop conectado por meio de algum wireless. Nosso hedonismo é um sintoma moderno, não o aprendizado da doutrina de Epicuro.
Uma cena brasileira. São Paulo, 2010. Durante os dias do julgamento de acusados da morte de uma criança por seu pai e sua madrasta, um grupo de pessoas ataca fisicamente o advogado de defesa. O grupo pôs de lado o "direito de defesa", pertencente aos costumes do Ocidente, principalmente a partir do século XVIII e vigente na legislação da maioria dos países do Ocidente. Tudo ocorreu como se quisessem que o advogado abandonasse o caso. Ora, se o advogado abandonasse o trabalho, mediante pressão popular, como esse defensor deveria ser entendido?
Caso o advogado deixasse os trabalhos, eticamente ele teria cometido uma falta grave. Tomada como um todo, a sociedade espera que um advogado acredite na inocência (ou parte dela) do seu cliente e vá até o fim na tarefa da defesa. Em termos mais gerais, a ideia básica é que o advogado, mais que qualquer outro cidadão, leve a sério o preceito "todos são inocentes até que se prove o contrário", vigente como valor, regra e lei no Ocidente moderno. Caso tivesse desistido, moralmente ele também ficaria em dívida, ao menos consigo mesmo, pois agiria segundo uma qualidade moral pouco louvável entre nós: a covardia.
Esse assunto nos conduz à seguinte pergunta: qual a diferença entre ética e moral?
Ética diz respeito a costumes, hábitos e valores relativamente coletivos, assumidos por indivíduos de um grupo social, uma sociedade ou uma nação. No caso, pode-se comentar o seguinte: os indivíduos que queriam que nenhum advogado defendesse o casal se mostraram hostis ao costume social e jogaram pela janela valores caros ao Ocidente. Eles estavam em dissonância com o ethos da nação, especialmente porque queriam que o próprio advogado também atravessasse o comportamento ético.
Moral diz respeito a hábitos, costumes e valores assumidos por indivíduos de um grupo social, uma sociedade ou uma nação, todavia, o comportamento desenvolvido por tal assunção está diretamente relacionado à psique de cada um e, também, à sua personalidade e até mesmo ao que chamaríamos de suas idiossincrasias. Moral tem a ver com o que o indivíduo faz ou deixa de fazer quanto a situações que a sociedade determina como particulares; abarca relações de um indivíduo consigo mesmo e com as pessoas mais queridas, mais próximas. Caso o advogado tivesse cedido aos agressores e desistido do caso, talvez estes mesmos viessem a dizer que ele agiu como um "homem de moral fraca". Ele seria, então, caracterizado como alguém que não honrou o mores da sociedade brasileira.
Ética e moral não são a mesma coisa. Aliás, suas origens etimológicas assim dizem: ética vem do grego ethos e moral originase do latim mores. Delimitam, respectivamente, comportamentos sociais universais e comportamentos sociais particulares. Em sociedades ocidentais modernas e liberais, em que há um recorte claro e razoavelmente bem definido da esfera pública e da esfera particular, a ética cai no primeiro campo e a moral no segundo.
Com isso, não se quer dizer que, em uma sociedade moderna, ocidental e liberal como a brasileira, que faz recortes razoavelmente delimitados entre o que é a esfera pública e o que é a esfera privada, o que é do âmbito moral não possa vir a público, ou seja, não possa ser exposto ao um público. Em várias situações notáveis, isto é, em casos polêmicos, o que ocorre é exatamente essa transposição do que é privado para o âmbito público. Não raro, é justamente nessa hora que percebemos a diferença entre um caso e outro, entre situação moral e situação ética.
A investigação da ética remonta aos primórdios da atividade filosófica. Sócrates se caracterizou por fazer perguntas eticomorais. Todavia, foi Platão quem inventou a discussão ética, o que denominamos hoje de metaética. Enquanto campo de estudo e investigação, a ética se responsabiliza pela discussão das normas e regras de conduta e, portanto, tem como objeto as morais vigentes. A metaética, por sua vez, é um discurso de segunda ordem que se põe filosoficamente para validar ou não preceitos eticomorais vigentes. A metaética diz respeito a fundamentos e/ou justificativas da moral.
Em termos acadêmicos atuais, as posições metaéticas formam três grandes guarda-chuvas: o naturalismo, o relativismo e o emotivismo. No âmbito propriamente ético, a tendência é dividir a normatividade a partir de éticas do dever e éticas consequencialistas. A ética judaico-cristã e a kantiana são do primeiro tipo, o utilitarismo é do segundo tipo.
A noção de "natureza humana" já desfrutou de muito mais prestígio que hoje possui entre os filósofos. Todavia, no âmbito do senso comum, ainda é utilizada como um porto seguro. Uma boa parte das pessoas se tranquiliza quando, diante do relato de uma situação vivida por outros ou por si mesma, a avaliação moral recebida vem junto com a frase "ah, isso é normal, é próprio da natureza humana". O que é um fato que pode ser classificado como "da natureza humana" serve, então, de fundamento ético para o comportamento moral - por mais esquisito que este possa parecer em um primeiro momento.
A ideia básica, nesse caso, está lá no século XVIII, especialmente na distinção entre fato e valor estabelecida por David Hume. "A parede da sala é branca" é uma frase factual enquanto que "A parede da sala é horrível" é uma frase valorativa. Ora, a posição naturalista em metaética diz que tudo que é próprio do homem é um fato -um fato da "natureza humana". Sendo um fato da natureza humana pode, então, ser tido como normal e indicado como o que deve ser aceito -afinal, quem estaria autorizado a mudar a natureza humana?
Um exemplo. Em 2010, houve estupro de garotas (inclusive com morte) em alguns estados brasileiros e, coincidentemente, elas usavam algo chamado "pulseirinha do sexo". As autoridades agiram, então, como se a causa do estupro fosse o uso da pulseira.
A pulseira marca uma atividade de paquera - nela está exposto, segundo a cor, um código para o "beijo", "abraço" etc. A garota que a usa estaria, em princípio, permitindo uma brincadeira junto aos colegas ou pretendentes; se eles arrancam a pulseira estão aptos a realizar o que está gravado no objeto. Nada além de uma brincadeira pré-adolescente, como era o "correio elegante", o bilhete que meninos e meninas trocavam em festas escolares há alguns anos e que, talvez, ainda troquem hoje em dia.
Nos estados em que ocorram os casos, as autoridades se preocuparam antes em proibir o uso da "pulseira do sexo" que condenar veementemente o estupro e nele centrar as atenções. Assim, mais uma vez, a mulher foi punida duplamente. Nessa situação, ocorreu a conhecida posição que imputa culpa à vítima. No limite, as mulheres que usam um adorno, no caso a "pulseira do sexo", são responsabilizadas pelos ataques que vierem a sofrer de malfeitores. Elas não deveriam estar usando aquilo, pois, como concluíram as autoridades de modo completamente irracional, a pulseira seria o chamariz para o ataque. Em suma, as autoridades que assim pensaram não disseram, mas, certamente, estavam com a seguinte diretriz na cabeça: "é um fato da natureza humana que o homem se sinta excitado por mulheres que colocam a pulseira chamando para o sexo". Alguns endossariam até mais: "é um fato da natureza humana que homens que são chamados para o sexo, uma vez rejeitados, ataquem".
Assim, a valoração moral da situação que terminou em estupro e, em alguns casos, em morte, é tomada de modo bem menos negativo que a princípio poderia parecer. Há um crime e, é certo, trata-se de um crime que as autoridades, em vários países, chamam de "hediondo", mas que, no caso, cai sob as graças da avaliação moral, pois, afinal, a atitude dos criminosos não fugiu do que pode ser derivado de um "fato da natureza humana".
Essa posição metaética é base para a fundamentação de avaliações morais. O filósofo George Moore fez a melhor crítica dessa posição. Essa crítica apareceu como uma denúncia ao que ele chamou de "falácia naturalista".
Ele não contestou a existência de uma "natureza humana". Ele foi mais decisivo, pois questionou a legitimidade da derivação do "dever ser" a partir do "ser". O que se pode tomar como algo que deveria ocorrer (ou não) não é algo que, legitimamente, se aponte a partir do que se mostra como o que é. Um fato não está autorizado a gerar um dever. Um fato dito "da natureza humana" não está logicamente autorizado a dizer "o homem deveria ou poderia agir de um modo ou de outro". Norma e valor não podem ser obtidos do fato. A linha entre norma (ou valor) e fato não traz a implicação legítima, traz uma relação que conduz a uma falácia. Não é difícil ver, no caso da "pulseira do sexo", a falácia em que as autoridades dos lugares que proibiram o uso do objeto caíram.
A posição relativista, em uma formulação simplificada, diz que todos os enunciados que afirmam o certo e o errado não estão sob o crivo que deriva de uma autoridade universal e absoluta. É claro que uma posição como esta precisa ser discutida, pois ela não é o que se pode pensar dela inicialmente, uma posição de autorrefutação.
Pode-se afirmar legitimamente que há posições melhores e piores em moral, que somos capazes de decidir sob quais não viveríamos de modo algum e sob quais poderíamos, ainda que descontentes, optar por continuar vivendo. Na maioria das vezes, temos argumentação suficiente para dizer isso e convencer outros de nossa razoabilidade, mesmo que não tenhamos nada de universal e menos ainda de absoluto para invocar em favor de nossa opção.
O filósofo britânico Bertrand Russell criticou os pragmatistas americanos de sua época, em especial William James e John Dewey, acusando-os de relativistas. Ele entendia os relativistas de uma maneira um pouco injusta, como os que podiam dar guarida a toda e qualquer ação ou enunciado.
Nas discussões filosóficas sobre o relativismo, ele cai na berlinda, em geral, diante de Hitler. O genocídio dos judeus é a pedra de toque. Há, para o relativista, um modo de condenar o nazismo pelo Holocausto? Ou o relativista é obrigado a confessar que entre a posição dos que estiveram no Tribunal de Nuremberg, acusando os nazistas ali julgados, e os próprios nazistas, não poderia haver diferença? Segundo alguns ultradireitistas, ainda hoje, os promotores de Nuremberg não tinham nenhum outro elemento nas mãos além daquele devolvido pe los nazistas a cada acusação, a saber, que eles estavam ali sendo julgados única e exclusivamente por terem perdido a guerra - não eram nem mais e nem menos criminosos que qualquer outro participante do conflito.
A posição relativista é boa quando tem de justificar o que parece a uma cultura apenas idiossincrasia de outra, e que, na verdade, tem lá seu valor perante um bom contingente de pessoas cultas. O relativismo tem menos sorte quando é cobrado diante de ter de avaliar genocidas.
O relativismo se complica mais, também, quando se coloca como base para as avaliações eticomorais a respeito de atitudes de grupos que colocam seus semelhantes, os mais desprotegidos, em situação de sofrer dor ou mesmo de morte. Acontecimentos recentes nas tribos brasileiras lembram bem isso. Há tribos que enterram vivas crianças com algum defeito físico ou mental. Não são tão diminutos os grupos de antropólogos ou indigenistas que, utilizando o argumento da importância do respeito à cultura dos povos, defendem tal prática.
Mas o relativista sério sabe que o relativismo não se presta à legitimação de toda e qualquer prática. O relativismo implica em dizer que valores, práticas e enunciados não podem ser colocados, em princípio, fora do contexto da discussão racional por conta de qualquer lei "escrita nas estrelas". Ou seja, tudo merece discussão. Até a barbárie merece ser discutida. No caso de barbáries horríveis - o Holocausto é a pedra de toque aqui -, nós não deixamos de discuti-las. Aliás, no Tribunal de Nuremberg foi dado aos nazistas o direito de defesa. Em determinado momento do julgamento, eles chegaram a levar vantagem diante da opinião pública. Só quando os filmes que eles próprios fizeram da morte de judeus foram encontrados e exibidos durante o período de julgamento, para todos que formavam ali o júri, é que o promotor efetivamente ganhou força no caso. Muitos que viram as cenas não precisaram evocar nenhum princípio universal para ter argumentos contra eles. Aliás, depois da Segunda Guerra Mundial se elaborou uma nova Carta de Defesa dos Direitos do Homem, exatamente para se ter um parâmetro para uma futura jurisprudência, o que foi tomado por decisão histórica e, portanto, sem qualquer legitimidade outra que não a do desejo dos que a elaboraram de não ver a barbárie repetida sem que se pudesse dizer: "isso nós não queremos".
O filósofo britânico Alfred J. Ayer, da linha dos positivistas lógicos, foi um dos principais defensores do emotivismo. Ele afirmou que todo e qualquer enunciado ético é sem sentido, não possui nenhum literalidade - é alguma coisa que expressa emoção e não fatos. Expressões de emoção, mesmo que sejam sentenças, foram tomadas por Ayer como equivalentes a grunhidos ou sorrisos e, por isso mesmo, não poderiam receber os adjetivos falso ou verdadeiro. Não estando no campo do que é literal, não pertenceriam ao âmbito do que pode ser verificado.
Ora, sendo assim, mesmo que se coloque um enunciado do tipo "a tortura é algo errado" em um documento solene como a citada Carta da Defesa dos Direitos do Homem, há de se ter em mente que se trata de um enunciado não verificável. "A tortura é algo errado" equivale a um grito de emoção, algo como um "buuu" ou "iahhhaa".
Os filósofos norte-americanos e britânicos que, dentre toda a comunidade filosófica, são os mais familiarizados com essa doutrina, a denominam de teoria ética do Boo/Hooray, lembrando que se alguém está dizendo algo a respeito de sentimentos está efetivamente grunhindo de modo a incentivar ou reprovar algo, com o único objetivo de mobilizar ou desmobilizar ações e conversas.
Poder-se-ia aqui, no caso, também chamar Hitler? Sim, claro! Mas, novamente há saídas. Dizer "buu" para alguém pode não ser pouca coisa. Um grito de reprovação é um grito de reprovação e, uma vez no ar, identifica seu emissor. Ora, seu emissor pode, por ele próprio, ter um status moral suficiente para que outros digam: "ele é uma pessoa razoável, não está aplaudindo tal enunciado e, então, vou considerar o que ele tem a argumentar sobre isso". Podemos conversar horas, nesse caso, sem encontrarmos leis "escritas nas estrelas" para justificar o "buu", mas, na discussão, pode-se encontrar uma série de bons argumentos, sentimentais ou pragmáticos, que indicam muito bem que não é razoável e nada bom ficar do lado do vaiado. Por exemplo, talvez possamos mesmo convencer um nazista, que não seja o próprio Hitler, que a democracia é melhor para a família dele e de seus filhos que o regime de força que ele adotou.
Um religioso guiado pelos Mandamentos é, antes de tudo, uma pessoa que segue um código ético-moral por dever. O nome já diz tudo: não se trata de sugestões para vida e, sim, de ordens - mandamentos. O Deus judaico-cristão não pede, ele manda. Ele pode mandar "por justiça", como no Velho Testamento, ou por amor, como no Novo, mas que ele manda, ele manda.
Sua autoridade para mandar vem, no Velho Testamento, Dele próprio - Ele falou o que era o correto para o povo judeu e, enfim, depois, por meio deste, para o homem em geral. No Novo Testamento, Deus se transformou em Pai e, então, reordenou alguns princípios, repostos pelo discurso de Jesus. Nesse caso, ele falou o que era o correto para os judeus e sua autoridade passou a vir da ideia de que "o amor é a única lei". Nos dois casos, o código moral a ser seguido é, antes de tudo, um conjunto normativo que seguimos porque devemos seguir.
Com os modernos, em especial com o filósofo alemão Immanuel Kant, uma norma deveria ganhar valor moral caso pudesse ser identificada como um imperativo - o chamado imperativo categórico, assim posto: "atue somente de acordo com aquela máxima que pode ser tomada como que deveria ser uma lei universal, ao mesmo tempo em que se está agindo". Essa lei depende de um "fato da razão": a liberdade. O homem não está preso a agir assim, ele age porque sua condição é a de ser livre. Ele se determina a agir assim, segundo o imperativo, para poder agir moralmente, e isso não por sentimento e, sim, por entender que a regra do imperativo categórico, uma vez não seguida, resultaria em uma contradição que gritaria ao seu ouvido racional. Que mundo pouco confortável (racionalmente) não seria aquele no qual o que não pode ser tomado como lei universal fosse a regra seguida por todos e aceita como correta?
O exemplo aqui é do próprio Kant: mentir por amor à humanidade não é um ato moral, pois a mentira como lei universal inviabilizaria nossa sociedade e a própria humanidade. Caso todos pudessem mentir e, ainda assim, ter respaldo moral para a mentira, isso institucionalizaria uma sociedade que, no limite, já não teria parâmetro para separar - moralmente, o que não é pouco - o que é o testemunho falso e o que é o verdadeiro.
Diferentemente da ética do dever, J.S.Mill advogou uma ética das consequências a partir de seu projeto denominado de utilitarismo. Sua ideia básica foi a de tornar indistintos felicidade e prazer, aceitando para tal um cálculo a respeito do prazer. O que causa dor e o que causa prazer foram postos em uma régua de máximos em pólos opostos, e o que é bom e, portanto, um valor ético-moral, é o que não traz dor alguma, portanto, se inicia no ponto não zero, positivo, do prazer. O mal é exatamente o que se inicia em sentido contrário. Uma régua desse tipo pode avaliar cada enunciado e cada ato, em suas consequências, como útil ou não para homem.
Indagados se isso não traria uma arbitrariedade muito grande no campo das decisões ética, os utilitaristas responderam que essa régua não deveria ser posta em uso sem que se considerasse a humanidade, o coletivo. Todavia, ainda assim, a pergunta retornaria, pois os conflitos eticomorais aparecem não só entre indivíduos, mas, como já mostrei aqui, também a respeito de culturas - o que é o coletivo para o indivíduo.
Apesar dessa objeção, o utilitarismo tem uma vantagem sobre os dois outros sistemas. Ele é menos rígido e, por isso mesmo, permite o que é essencial à filosofia, ou seja, a discussão racional e não apenas a decisão racional.
Por exemplo, no caso dos índios que enterram crianças, um utilitarista iria fazer o que realmente foi feito por alguns estudiosos, o de saber se a dor criada por aquela situação seria exclusivamente da criança ou de outros também. O que se descobriu é que alguns irmãos e mesmo algumas mães preferiam fugir que enterrar seus filhos, pois a dor que sentiram era insuportável, mesmo diante do costume arraigado em séculos. Nesse caso, a régua moral utilitária diz que a própria tribo tenta sobreviver também por meio dos que não concordam com o costume, e estes fogem, sobrevivem e não deixam de se considerar daquela tribo por terem optado pelo exílio nas mais duras condições da floresta. Dessa observação, a discussão racional reaparece exatamente porque se as consequências não foram pré-julgadas, elas são repostas na mesa de conversação para os que estão observando o quadro.
Novos problemas para a metaética e para o enfrentamento dos dilemas morais no mundo contemporâneo advêm da instauração do prestígio da psicanálise. O centro emergente das dificuldades, no caso, é a maneira como a psicanálise atravessa a noção filosófica de liberdade e responsabilidade, comum ao tratamento tradicional. A noção de inconsciente é a erva daninha, não presente na ética antiga ou moderna.
Quem está inconsciente está inconsciente, ou seja, desmaiado. Quando se diz isso, não raro, surgem as vozes discordantes, e com razão: a palavra "inconsciente" se refere, também, a um estado de perfeita vigília. Como é possível isso? O que ocorre é que, nesse caso, o "inconsciente" não diz respeito ao indivíduo como um todo; nessa acepção fala-se de "inconsciente de alguma coisa".
O que nos aguça a curiosidade a respeito das relações entre Freud e a filosofia, é o seguinte alerta: dizemos que alguém é inconsciente de algo, mas se é inconsciente, devemos dizer que sabe do assunto que, afinal, não sabe ou, melhor dizendo, não sabe que sabe? Isso não é uma flagrante contradição? Afinal, o inconsciente, como o usamos, supõe que exista um saber nele depositado que não foi propriamente esquecido, mas que veio a cair em um tipo de esquecimento já quando gestado, inicialmente, no indivíduo. Complicado, não?
Durante muito tempo a filosofia trabalhou com a ideia da vida mental como não contendo nenhuma divisão que pudesse ser chamada de inconsciente. Leitor de Schopenhauer e Nietzsche, estudiosos de "forças inconscientes", Freud se envolveu com a prática médica de tratamento de "doenças nervosas" e, então, anunciou a "descoberta do inconsciente" como um novo território da vida mental. Ele fez isso falando de uma forma brilhantemente bombástica: "o homem não é senhor dentro de sua própria casa". Ou seja, todo o campo subjetivo não se resume ao eu, mas este é parte do campo subjetivo, que é seu lar, mas no qual não é totalmente o comandante.
A filosofia nunca trabalhou com a ideia do eu como quem, no limite, ou pela razão ou pela vontade racional, não dominasse paixões ou impulsos ou, ao menos, não tivesse possibilidade de assim fazer em algum grau. Freud trouxe a noção de inconsciente como uma afronta à lógica. O inconsciente foi batizado por ele como parte do mundo psíquico, um determinador de falas, pensamentos e ações e, no entanto, como um rival do eu consciente - o sujeito. A ideia freudiana, que antes de se tornar popular veio a ser um incômodo para a imagem de nós mesmos até então levada a cabo pela filosofia, foi a do homem como quem tem pensamentos e desejos empurrados por uma parte dele mesmo que, enfim, ele ignora. Exatamente: a parte inconsciente ou a parte que está no inconsciente.
Freud não parou aí, ele disse mais, para o horror da filosofia até então. Ele viu a vida psíquica, em sua maior parte, como o inconsciente e, além disso, afirmou que a energia com a qual toda a conduta humana se movimenta nada é senão forças da libido, ou seja, energia sexual.
Inconsciente e energia sexual, ainda que utilizadas de um modo novo, com conotações ressignificadas por Freud, não deixavam de ser, enfim, inconsciente e energia sexual. Juntos, como elementos centrais da subjetividade então redefinida, esses dispo sitivos fizeram do eu algo distinto do que a modernidade havia desenhado como sujeito. Na acepção tradicional, o eu enquanto sujeito é o eu consciente dos pensamentos e responsável pelos seus atos. Ora, mas, se como Freud disse "o eu não é senhor em sua própria casa", ou seja, se a subjetividade compreende um eu que não se dá conta, completamente do que pensa e que não delibera sobre o que faz, como que é possível dizer que há sentido em falar de sujeito? E se não há o sujeito no sentido tradicional, o que fazer com todos os preceitos metaéticos, em geral, baseados na ideia da liberdade humana e da consequente responsabilidade do eu enquanto definido como sujeito?
A conversa de Freud sobre a ética apareceu, principalmente, no célebre ensaio O mal estar na civilização. A história que se conta nesse belo ensaio é a de um conflito entre a força denominada de Eros e a força denominada de instinto de morte. Essas forças se mostram na narrativa do ensaio de modo bem determinado, cada uma com sua função. Todavia, Freud as apresenta como irmãos siameses. Quando uma surge, imediatamente deve surgir a outra - elas se apresentam enlaçadas, talvez de modo indissolúvel.
Eros é o amor. A palavra amor designa a fusão, a união. Assim, a ação de Eros é a de agregação. Graças a Eros os indivíduos isolados são postos no interior de grupos, e estes, por sua vez, são empurrados para a formação de outros grupos maiores. O elo dessas agregações, isto é, aquilo que faz que um indivíduo se integre em um grupo e ali permaneça, e o que faz que os grupos permaneçam unidos com tendências a se agregar a outros, é batizado por Freud de libido. Nem a necessidade nem a vantagem do trabalho comum, por si sós, conseguiriam manter a união dos indivíduos se não fosse o elo libidinal. A libido é o princípio de vida, o que vem com Eros. Mas, esta é apenas uma das cabeças dos irmãos siameses. Contrariamente à força que agrega, há a força que tende a desfazer a união. Trata-se da agressão - o instinto agressivo ou a manifestação mais visível do instinto de morte.
O instinto de morte é assumido por Freud como existente à medida que ele nota que, contra as unidades que surgem pela agregação, pelo amor, sempre ocorre o aparecimento de forças contrárias que visam a dissolver tais unidades, em busca de uma volta ao estado primitivo e inorgânico. Trata-se de uma devolução da vida à morte - pela agressão. Por isso mesmo o nome não poderia ser outro senão instinto de morte. A libido que une nunca se mostra sem sua contrapartida, que é a agressividade, que tenta retroceder e fazer desaparecer a união. Junto das manifestações sexuais, que são expressões da libido de modo mais visível, há sempre algum componente de sadismo e/ou masoquismo, mostrando, assim, a presença, em graus variados, da agressividade mesmo no momento do amor ou, especialmente, nesse momento. O instinto de morte não deixa o princípio de vida atuar solitariamente. Irmãos siameses são irmãos siameses.
Esses dois elementos - instinto de morte e princípio de vida - atuam no interior tanto do desenvolvimento do indivíduo, que deve se integrar em grupos, quanto no processo da civilização humana, que é a integração entre grupos que vão, então, gerando grupos maiores. No caso do primeiro, o telos é a felicidade - o êxtase final apontado pela diluição do ego. No segundo, não é que a felicidade seja posta de lado de uma vez, mas o telos é realmente a criação de uma coletividade maior. É exatamente na observação desses dois processos que Freud recoloca sua teoria das funções da consciência tripartida em ego, id e superego.
Como no caso ele não trata do indivíduo somente, e sim de sua relação com a sociedade, as noções de ego, id e superego são mostradas de um modo especial. A noção de superego, por analogia, extrapola a consciência individual. Freud se preocupa em mostrar - e é isso que ele diz que considera o novo na sua narrativa do comportamento humano - a ideia de um superego não psicológico, um superego cultural. O superego corresponde, como ele diz, à força dos primeiros grandes líderes da comunidade, que registraram as primeiras leis e que, enfim, se mostraram como que divinos ao agirem desse modo. São exatamente esses líderes que irão deixar para as suas comunidades, que continuam os seus desenvolvimentos, as exigências "que tratam das relações dos seres humanos uns com os outros" e que estão "abrangidas sob o título de ética". Em outras palavras, o superego cultural é nada mais nada menos que a ética.
QUAL É O PAPEL DA ÉTICA, DO SUPEREGO CULTURAL?
O ensaio O mal estar na civilização lida com a questão da busca da felicidade e com o que se mostra como o infortúnio humano, que é a agressão entre os homens. Quanto a esse problema, Freud diz que sempre esperamos muito da ética. Ela é importante, pois queremos que ela resolva um problema difícil, o da agressividade mútua. É como se a ética fosse uma terapia, diz ele, uma vez que se espera alcançar com ela, por meio de "uma ordem do superego, algo até agora não conseguido por meio de quaisquer outras atividades culturais. Ora, se é isso que se deve abordar a fim de compreender a ação ética, o objeto tem de ser exatamente a norma mais atual do superego. Em outras palavras, o objeto é o preceito ético mais universal de nossos tempos, o mandamento cultural vigente que veio do superego. Freud aponta corretamente para o mandamento "Amai ao próximo como a ti mesmo".
Freud acha esse imperativo ético exigente demais, aliás, como toda ordem do superego que pouco se preocupa com o homem. "Amai ao próximo como a ti mesmo" é uma afronta a qualquer tipo de egoísmo ou de narcisismo. Ao se tentar seguir um imperativo desse tipo, o que se pode esperar do ego individual? O ego individual teria de ser capaz de um controle total do id, mas é óbvio que esse controle não existe. A exigência do superego cultural, com o "Amai ao próximo como a ti mesmo" ultrapassa as possibilidades do homem e, quando algo desse tipo ocorre, há infelicidade - ou mesmo, no plano de análise de um superego individual com um ego individual, há a neurose. Além do mais, quem quisesse seguir o mandamento em questão, uma vez diante de outro que não desse muito valor para a tal regra, cairia em desvantagem e, então, passaria por um duplo sofrimento. A frustração levaria à culpa. Ser passado para trás produziria a mágoa.
Diante disso, Freud vê que lidar com a agressividade não é fácil. Ele diz: "que poderoso obstáculo a agressividade deve ser, se a defesa contra ela pode causar tanta infelicidade quanto a própria agressividade!".
Como a ética nada é senão o superego cultural, e este, por sua vez, é uma analogia com o superego psíquico individual, a analogia pode continuar, diz Freud, e então podemos imaginar mais correlações. Assim como o superego individual, com suas exigências, pode produzir neuroses, a analogia permite dizer que éticas difíceis de serem cumpridas poderiam criar civilizações neuróticas. Por conseguinte, a ideia tão tentadora quanto perigosa seria a de começar imaginar terapias para toda uma civilização.
Freud, aqui, se abstém de dar caminhos. Todavia, ao final do ensaio em questão, traça uma observação interessante sobre tendências. Durante todo o percurso em que fala de ética, o que aborda não é outra senão a ética moderna, a chamada "ética do dever". Nesse tipo de ética, a virtude moral vai para um lado e a felicidade, não raro, vai para outro. Mas, ao final, Freud assume que os juízos de valor dos homens acompanham "diretamente os seus desejos de felicidade". Nesse caso, Freud parece assumir uma visão próxima da ética antiga, a ética da eudaimonia. Na ética antiga, o objetivo é a realização da felicidade ou o alcance da felicidade. Ainda que eudaimonia não possa ser traduzida, exclusivamente, por felicidade em um sentido moderno, o que Freud diz o coloca em proximidade com a ética das virtudes, a ética clássica. No entanto, mais uma vez, ele novamente altera o curso. Fala da correlação entre juízos de valor e desejos de felicidade não para endossar uma posição ética, mas para, em seguida, dizer que essa busca de felicidade faz os homens encontrarem argumentos de toda ordem para "sustentarem suas ilusões".
Ao fim e ao cabo, Freud não assume uma posição ética propriamente filosófica. No que parece que vai endossar a eudaimonia, em um final que seria espetacular, recua para a posição de um teórico que busca certa neutralidade filosófica no campo doutrinário moral. Não se trata de neutralidade científica, e sim de neutralidade no campo da filosofia prática. Pesa forte, nesse caso, o espírito de época. Desse modo, o que faz é um estudo que poderíamos dizer que se trata de um tipo de metaética, uma especial narrativa teórica que poderia, talvez, fundamentar ou justificar uma doutrina - exatamente essa doutrina que ele, Freud, não ousa explicitar.
A palavra política vem do grego polis. Esta, como se sabe, é a cidade-estado da Grécia antiga. Modernamente, política é a atividade de administrar o Estado segundo leis, de modo a fazê-lo funcionar do melhor modo possível nas suas relações com os indivíduos, com a sociedade civil e com outros Estados.
Toda sociedade tem alguma forma de política, mas nem toda sociedade tem ciência política e/ou filosofia política. A ciência política cuida do estudo de determinadas relações entre Estado, sociedade civil e indivíduos. Faz isso segundo os procedimentos da investigação empírica e a partir de modelos teóricos de tais relações, de acordo com o que é comum à tarefa da ciência moderna. A filosofia política, diferentemente, diz menos respeito às ocorrências empíricas, tendo mais a ver com os problemas que surgem quando grupos adotam e/ou poderiam adotar doutrinas políticas, isto é, ideários normativos mais ou menos imaginados ou idealizados a respeito da melhor conduta política, aquela atitude que levaria ao bom governo.
A filosofia política está voltada para as discussões em torno de noções como liberdade, justiça, manutenção e criação de direitos, igualdade, identidade de minorias, respeito individual ou, ainda, para questões de propriedade, questões sobre o que é público e o que é privado, legitimidade e/ou fundamentação (metafísica) de procedimentos político-jurídicos e similares. Pode também falar de idealizações sobre "formas de governo". O trabalho do filósofo político (que pode se articular ao trabalho do filósofo do direito) é o de lidar com esses elementos e questões que implicam juízos eticomorais. Esses juízos são os que, por sua vez, aparecem nas obras de escritores (filósofos ou não) interessados no que chamamos de utopias e/ou projetos políticos.
A filósofa alemã Hannah Arendt (1906-1975) mostrou que, nos tempos, modernos o laço entre ética e filosofia política aparece de modo paradigmático em Immanuel Kant (1724-1804). Para ele, segundo Arendt, quando tomamos o campo político como objeto, tudo o que temos a fazer é resolver uma questão que, dita aos estudantes na formulação original, é suficientemente engraçada para motivar-lhes a atenção, a saber: como dar uma constituição (uma regra jurídico-normativa) para uma raça de demônios, de modo a tornar viável a sua vida coletiva? De certo modo, o político, o cientista político e o filósofo político estão diante desse problema. Eles o abordam de modos diferentes, mas as dificuldades são as mesmas, pois, afinal, os demônios não são, certamente, seres muitos fáceis de viverem socialmente sob regras.
Dar uma constituição para um povo é, também, estabelecer como esse povo ou nação constituiu-se em Estado. Nos tempos modernos, dois grandes grupos de teorias deram uma explicação a respeito do que é o Estado, em geral visto na relação com o que é sociedade civil: o jusnaturalismo e o hegelianismo.
A compreensão da necessidade do Estado se fez de modo paralelo ao objetivo de formular um retrato do Estado ideal ou da sociedade ideal. Isso gerou, para a filosofia política, uma produção clássica: as utopias.
Nos séculos XIX e XX, as utopias se casaram com o pensamento histórico. Assim, deixaram a condição de modelos negativos e ganharam desejo de positividade, buscando se realizar. A decepção com tal positividade trouxe o pensamento político, de uma parte, para o campo de receio em relação às utopias e, de outra, para a teorização a partir das reformulações do liberalismo - sob o chão do liberalismo instituído o que se construiria não seria propriamente nenhuma utopia, mas, necessariamente, uma teoria de melhor funcionamento do Estado. Deste último movimento, nasceram as propostas de discussão da justiça social e sua relação com o Estado. Pode-se ver isso, em especial, na filosofia política americana.
O contratualismo jusnaturalista compreende as doutrinas ou teorias políticas que tomam a origem da sociedade e a base do poder político como frutos de um contrato: um acordo tácito ou formal divulgado em meio à maioria dos habitantes de um dado local, de modo que tal acordo põe fim ao "estado natural" e inaugura o "estado social e político" -a esfera da civilização.
A tradição jusnaturalista se fez, principalmente, a partir de Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e Immanuel Kant (1724-1804). Suas perspectivas metodológicas se identificaram no seguinte ponto: há um contrato que é a mediação entre, de um lado, um hipotético "estado de natureza" e, de outro, a esfera da civilização regulada por um governo, e esse contrato é nada mais nada menos que um pacto entre os homens.
A identificação em um ponto permite, então, os contratualistas se dividirem em tudo o mais. Cada um mostra uma psicologia e uma maneira peculiar de caracterizar o "estado de natureza" e, a partir daí, as possibilidades do Estado.
No "estado de natureza" de Hobbes, o que há é uma situação de caos absoluto, que fragiliza o homem perante os demais a tal grau que inviabiliza sua sobrevivência. Segundo a psicologia hobbesiana, os homens são naturalmente inimigos entre si, o que deriva da igualdade com a qual a natureza os criou. Assim, basta que dois homens, com as mesmas capacidades, almejem simultaneamente algo que não pode ser desfrutado em comum, para que se esforcem no sentido de destruir e subjugar um ao outro. No "estado de natureza" há a iminente "guerra de todos contra todos", pois ele é o local em que não há justiça ou lei.
Em Hobbes, a garantia da justiça, da propriedade e da vida dependem da passagem dos homens para uma nova ordem, na qual um homem ou uma assembleia será representante da vontade de todos os demais. O direito natural de cada um de governar a si mesmo é delegado ao soberano, que, mediante tal ato, tem todas as suas ações legitimadas. O pacto se dá de cada homem com os outros homens; o resultado é, na expressão hobbesiana, a multidão "unida numa só pessoa", e isso é o Estado.
A psicologia hobbesiana não encontrou respaldo na de Locke. Os olhos de John Locke foram bem mais condescendentes com a chamada natureza humana. O "estado de natureza" lockiano é, como em Hobbes, o reino da liberdade natural, mas o homem concebido por Locke, ao usufruir da liberdade natural, não se transforma no lobo hobbesiano. Ao contrário, a liberdade natural consiste na não submissão do homem a nenhum outro poder que não a "lei da natureza" que nada é senão "lei da razão". O "estado de natureza" em Locke não é o domínio do caos ou da guerra, tanto que também é designado como "sociedade natural", regrada pela "lei da razão". Cabe a cada indivíduo, particularmente, fazer valer o respeito às "leis naturais", castigando os infratores, na defesa de sua propriedade privada.
Dessa concepção de sociedade natural, Locke derivou uma sociedade civil diferente da situação de civilização de Hobbes, uma vez que não é antagônica ao "estado de natureza", mas, em muitos aspectos, uma continuidade dele. Para ele, "os homens, quando unidos em um corpo, tendo lei comum estabelecida e judicatura - para a qual apelar - com autoridade para decidir controvérsias e punir os agressores, estão em sociedade civil uns com os outros".
A sociedade civil lockiana é gerada no momento em que cada um delega seu poder de julgamento privado à comunidade, que é árbitro em virtude de regras fixas estabelecidas, em geral mediante homens que a representam. A sociedade civil é a esfera do poder público, enquanto a sociedade natural é a esfera do poder privado.
A doutrina lockiana não vê antagonismos entre tais esferas, a do público e a do privado. A transferência do poder privado aos representantes da comunidade visa a manutenção da propriedade privada - que as leis do "estado de natureza" já garantiam. A diferença é que os homens em "estado de natureza" são obrigados a fazer justiça em situação precária, havendo inclusive a possibilidade de o infrator oferecer resistência e o justo não ter a quem recorrer. Faltaria ao justo um poder maior e mais autorizado.
Locke também admite algumas falhas na natureza humana: o homem pode ser parcial ao julgar os casos com os quais se encontra envolvido (e tais julgamentos lhes cabem na sociedade natural). A falta de leis positivas e de juizes no "estado de natureza" pode ocasionar uma situação na qual o estado de guerra, uma vez conflagrado com um agressor qualquer, torne-se contínuo, dado "o direito que a parte inocente tem de destruir a outra sempre que puder, até que o agressor ofereça a paz". Como o próprio Locke alerta, numa possível alusão a Hobbes, o "estado de natureza" não deve jamais ser confundido com o estado de guerra.
Para Locke, cabe a cada indivíduo decidir por seu ingresso ou não na sociedade política. E, sendo a comunidade formada pelo consentimento dos indivíduos, torna-se necessário o con sentimento da maioria de seus membros (porque o consenso é impossível) para que ela atue como comunidade.
A ideia do consentimento também se fez presente na teoria de Rousseau. O soberano de Jean-Jacques Rousseau, que possui apenas a força do Poder Legislativo, também age somente por intermédio do consentimento público. Sua atuação está restrita ao âmbito das leis, e, sendo as leis "atos autênticos da vontade geral", o soberano só pode agir por meio da reunião do povo em assembleia.
O caráter da noção de representação política em Rousseau se mostrou mais severo que o de Locke. O liberalismo, presente em ambos os autores, associou-se em Rousseau e às ideias de coloração libertária, e isso resultou em um esforço para encontrar uma forma de pacto - e do contrato - em que a associação dos indivíduos em busca de proteção não implicasse a perda da liberdade.
Ao mundo natural - o da liberdade - se apresentou contraposto, tanto em Hobbes quanto em Locke e Rousseau, ao mundo civilizado, cerceador. Mas não são esses os dois pólos do pacto: o esforço de Rousseau se fez, justamente, no sentido de pensar uma nova forma de regulação política, a partir de um contrato. Para ele, o "estado de natureza" é oposto à sociedade castradora, efetivamente existente. O "estado de natureza" se transforma, pelo contrato social, "num corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos são os votos da assembleia"; tal corpo recebe sua unidade por meio do mesmo ato que o forma, e sua unidade é "seu eu comum, sua vida e sua vontade". Essa pessoa pública é chamada por seus membros de Estado quando é passiva (ou seja, o Estado não é o conjunto de instituições políticas, mas sim o povo obedecendo às leis) e de "soberano" quando é ativa (o termo designa o corpo político elaborador das leis).
Por sua vez, Kant trouxe à cena o homem como dotado de razão como uma disposição natural a ser desenvolvida, o que requisitaria uma situação de liberdade. A psicologia de Kant mostra um homem cuja natureza o fez "simultaneamente sociável e insociável". A segunda característica é o que faz o homem ser competitivo e, paradoxalmente, é o que proporciona o progresso. Tal situação é a de antagonismo natural entre os membros da sociedade, que se exacerba, tornando necessário que haja "precisos determinação e resguardo dos limites da liberdade", de modo que a liberdade de um não inviabilize a liberdade de outro. Cabe aos homens a tarefa de instituir uma "constituição civil perfeitamente justa" (e esta é sua mais alta tarefa), para que os propósitos da natureza relativos à espécie humana ocorram. O homem, normalmente tão afeito à liberdade sem vínculos, depara-se com a necessidade de entrar num estado de coerção.
Como o homem reage a isso? Segundo Kant, sua inclinação natural ao egoísmo faz que ele procure se excetuar da lei que sua própria razão concebeu e entendeu como necessária. Daí a necessidade de um "senhor" que quebre a vontade particular e o obrigue a obedecer a uma "vontade universalmente válida", o que coloca imediatamente uma dificuldade, pois "o supremo chefe deve ser justo por si mesmo e todavia ser um homem".
O Estado kantiano se mostrou, portanto, proprietário de uma dimensão diferente da dos modelos de Hobbes, Locke e Rousseau. É um estado que implica em um projeto de confecção da legislação perfeita. Mas não apenas isso. Sendo possível para Kant conhecer os desígnios históricos, isto é, o propósito da natureza, por meio da "filosofia da história" (Kant apela para indícios empíricos concretos: vê sinais de entusiasmo pela liberdade, quando da Revolução Francesa), ele também projeta um Estado futuro, que é uma federação de nações. Dá a tal federação o nome de "Estado cosmopolita", nascido da situação de disputa entre os Estados, materializada na busca em defesa de propósitos universais. Esse é o último degrau a ser galgado pela humanidade do ponto de vista político. Se não houvesse tal possibilidade, afirma Kant, Rousseau estaria certo na sua preferência pelos "selvagens".
A unidade metodológica apontada no jusnaturalismo não se estendeu ao pensamento político de Friedrich Hegel (1770-1831). O raciocínio dual, montado a partir de bipolaridades, cedeu lugar ao esquema preferencialmente tripartite sobre o qual se estruturaram os modelos hegelianos. À lógica formal se sobrepôs à dialética do desenvolvimento triádico do Espírito, cujo processo de desdobramento aparece sendo como a própria história do mundo.
A "Filosofia do Espírito" de Hegel aponta três fases no desenvolvimento da compreensão da história do mundo ou do caminho do Espírito, que é a própria evolução do Espírito: a do espírito subjetivo (fase inferior, que compreende a antropologia, a fenomenologia do espírito e a psicologia); a do espírito objetivo, que é o movimento da cultura (fase intermediária, que compreende o direito, a moralidade e a moralidade social); e a do espírito absoluto (fase superior, que abarca a arte, a religião revelada e a filosofia - o momento em que o espírito faz sua tomada última de consciência). É no âmbito do espírito objetivo e, mais especificamente, no da moralidade social que encontramos a tríade "família", "sociedade civil" e "Estado" - sendo este o momento superior do espírito objetivo.
A sociedade civil, em Hegel, apresenta os homens particularizados em suas inter-relações. E esses homens mostram suas carências materiais, suas necessidades básicas, que são supridas pelo trabalho. Na sociedade civil há a organização das corporações e da administração, em defesa dos interesses particulares, enquanto constituem interesse comum. Todavia, a competitividade dos indivíduos particulares pode ser um elemento destru tivo da teia social. Há, então, a necessidade de restrição da liberdade individual; daí o surgimento do Estado, que impõe uma ordem não particular, ou seja, regras universais de conduta.
A inter-relação de Estado e sociedade civil no interior do pensamento político hegeliano é simultaneamente necessária e contraditória: tudo que é da ordem do universal, que se explicita na esfera do Estado, deve ser imposto ao que é da ordem do particular, que se explicita na sociedade civil, mesmo que isso contrarie a vontade particular, a fim de prover a manutenção da sua estrutura econômica. O Estado, que no jusnaturalismo contratualista é um conceito amalgamado com o conceito de sociedade civil, em Hegel se encontra apartado, embora exista em função de perpetuar a sociedade civil. Para Hegel, os interesses particulares são tão distintos dos interesses comuns que todo negócio privado põe o indivíduo contra a comunidade. É justamente por isso que o Estado, segundo Hegel, deve ser gerido pela burocracia, e não por elementos pertencentes à classes de proprietários de imóveis, comerciantes etc. O Estado hegeliano não tem caráter despótico. É certo que ele se define, em relação à sociedade civil, como capaz de se impor a ela, inclusive para contrariá-la, mas ele faz isso como baluarte da racionalidade e, na concepção de Hegel, isso quer dizer que ele abriga em si o espaço para a realização da liberdade.
Em filosofia política, a contraposição entre Estado e sociedade e, assim, as teorias que tentam explicar o nascimento do Estado não devem ser confundidas com as teorias que se envolvem com a ideia de "construção imaginativa de sociedades perfeitas". Estas últimas são as utopias.
Os filósofos criaram muitas utopias sociais contra a história, até que no século XIX fizeram um movimento inusitado: casaram as utopias com a história e começaram a achar que as utopias deveriam se transformar em projetos políticos, e que deveriam se efetivar na história -na realidade ética, social, sociológica e jurídica.
Por causa disso, o termo utopia tornou-se uma má palavra. No século XIX, recebeu um significado pejorativo diante da ideia de "projeto político". Este apareceu associado a uma "teoria da história"; aquela foi tomada como devaneio.
Friedrich Engels (1820-1895) usou de tal ideário para diferenciar o projeto político de seu parceiro, Karl Marx (1818-1883), frente ao dos outros socialistas. Ele classificou as ideias vindas dos concorrentes de "utópicas", já sabendo o quanto essa palavra estava desvalorizada em seu tempo. A nova forma de ver e propor relações entre o Estado e a sociedade - a forma socialista-marxista - seria o modo "científico" e condizente com os pré-requisitos básicos do pensamento positivo, reinante no século XIX e na entrada do XX. O socialismo, como ele aparece nos livros de Marx, segundo Engels, não seria uma "ideia" irrealizável, "utópica", mas algo possível de ser previsto e predito, uma vez que os escritos de Marx estariam falando cientificamente a respeito de como a história se movimenta realmente e de como pode, com grande probabilidade (para alguns, uma certeza), desembocar no socialismo e/ou no comunismo.
De certo modo, o que Marx possibilitou dentro da filosofia política, talvez até contra sua própria vontade, foi menos a vigência do "marxismo" ou do "socialismo científico" ou da "crítica da economia capitalista" e mais o sucesso da ideia abrangente de que o necessário é ter projetos políticos e teorias a ele associadas. Tal ideia tornou-se o carro-chefe do marxismo nos textos, tanto dos marxistas não revolucionários como dos revolucionários. No segundo caso, o paradigma foi do revolucionário Wladimir I. Lenin (1870-1924), que derrubou uma ortodoxia teórica apenas para substituí-la por outra.
Na defesa do projeto de construção do futuro segundo o que seria o marxismo, Lenin reclamou da ortodoxia dos teóricos da II Internacional Socialista. Segundo ele, os líderes e teóricos da II Internacional não teriam percebido que os povos que não passaram pelas Revoluções Burguesas clássicas teriam tanto ou mais chances de conduzir suas nações ao socialismo.
Lenin e os que ele criticou na II Internacional diziam estar de posse de uma "teoria científica da história" acoplada a um projeto político, ético e social para a construção do futuro do lugar em que vivem. Em ambos os casos, havia a busca de uma ortodoxia em que "leis científicas da história" e do "futuro" se casam.
Muitos dos inimigos do socialismo agiram de modo semelhante ao instaurado por Lenin e os seus adversários na II Internacional: construíram outras teorias da história em virtude de seus projetos políticos particulares que, uma vez crivados pelo que entendiam ser a ciência, seriam inevitáveis e universais.
Ter uma teoria a respeito do "colapso do capitalismo" implica construir uma "teoria da revolução" ou uma "estratégia teórica da passagem" - uma ciência social (ou um modelo teórico de funcionamento da história) capaz de fazer determinados grupos sociais, indivíduos, instituições ou Estados verem como poderão cumprir o seu destino. Do século XVIII para o XIX, tudo se tornou passível de ter "leis": em primeiro lugar, "leis da natureza"; depois, "leis da dialética ontológica", "leis da história", "leis da natureza humana" e assim por diante. Quem desejasse falar sobre a sociedade não poderia, mesmo não sendo cientista social, e sim filósofo, ignorar a força da noção de "leis", a força da ideia de "teoria", a força da "teoria social" como elemento capaz de mostrar o futuro.
No decorrer do século XX, tendo em vista que o mundo concretizou determinados projetos políticos, em especial os ligados à organização de um modo novo da "sociedade do trabalho" - o nazismo, o fascismo, o comunismo, o socialismo, a social-democracia etc. -, alguns filósofos começaram a rejeitar o vínculo entre projeto político e teoria, ou, ainda, entre utopia (então com nova conotação) e teoria. Afinal, as ditas utopias históricas, uma vez realizadas, mostraram a todos que viveram as duas Guerras Mundiais e a Guerra Fria que elas não eram capazes de dar as condições para a felicidade anunciadas por seus profetas e teóricos. Pelo contrário, elas trouxeram o inferno. Diante de tal conclusão, alguns pensadores culparam as próprias utopias históricas pelas desgraças do século XX, enquanto outros atacaram as teorias adversárias ou a própria ligação entre utopia histórica e teoria.
Theodor Adorno (1903-1969), por exemplo, evitou a articulação entre utopia e teoria simplesmente se esquivando de delinear a primeira e usando a segunda, quando não podia evitar o termo. Adorno temia que uma conexão mais forte entre utopia e teoria fizesse a autoridade da teoria transmitir-se para a utopia e, nesta, tal autoridade poderia se transformar facilmente em "instrumento do poder", em um sentido castrador - o de justificação da sociedade (imutável) que estaria sendo criada. A teoria, para Adorno, poderia ser carreada para a utopia por meio de uma correia de transmissão que ligaria a autoridade da ciência ao autoritarismo e ao totalitarismo políticos. Mesmo quando adjetivada pela palavra crítica, como faz seu parceiro Max Horkheimer (1895-1973), a palavra teoria não era, para Adorno, um elemento que viria a dar rumos para a utopia. As experiências do nazismo e do comunismo ficam marcadas em Adorno, e ele acreditava que uma teoria, que viesse a ter sucesso prático (tendo ou não a força a ela atribuída) por meio da concretização da utopia, receberia uma capa de legitimidade que transformaria o novo status quo vigente em mecanismo opressor, consolidado, porque seria justificado por uma "teoria científica da história" que passaria a funcionar dogmaticamente no meio social.
Certos pensadores, alguns ligados ao clima filosófico do fim do século XIX e outros mais recentes, propuseram o completo desligamento entre as utopias - todas elas, nesse caso, já tomadas como utopias históricas - e as teorias, pois proibiram qualquer crédito positivo a qualquer tipo de sonho social. Max Weber (1864-1920) e Michel Foucault (1926-1984) agiram assim.
Esses pensadores ensinaram uma boa parte dos intelectuais do século XX a teorizar - de modo muito útil - sobre a política sem que isso implicasse deixar de adotar, cada vez mais, uma atitude humilde ou descrente frente às possibilidades de concretização de utopias. Em determinados momentos, chegaram mesmo a proibir qualquer menção a utopias.
Entretanto, as utopias históricas, quando permaneceram na mentalidade das classes médias escolarizadas e/ou menos conservadoras das populações ocidentais, tornaram-se mais homogêneas, confluindo para o que seria o projeto do Welfare State, na forma europeia, como resultado das plataformas políticas da social-democracia, ou na forma estadunidense, como resultado do New Deal do presidente Franklin D. Roosevelt. Esse tipo de modo de vida tornou-se, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quase um consenso entre as classes médias escolarizadas não conservadoras do Ocidente rico, deixando de lado a necessidade de grandes teorizações para concretizar-se ou para ter quem lute por ele. Tal projeto só foi arranhado nos últimos vinte ou trinta anos do século XX, quando do surgimento do projeto denominado "neoliberalismo", que galvanizou em seu favor os descontentes em relação às formas de distribuição de riquezas que, segundo estes, estariam tirando mais de seus bolsos que ajudando de fato os que precisavam.
O neopragmatismo de Richard Rorty, em papel análogo ao do pragmatismo clássico de John Dewey em seu tempo, surgiu como a filosofia que se diferencia das formas de pensar que têm seus paradigmas em Marx, Weber, Foucault, Adorno e Horkheimer. Diferentemente de todos os modelos, Rorty descartou a "teoria" e preserva a "utopia". Ainda que, é claro, em seu caso, apareça uma forma especial de entender a palavra "utopia".
Por um lado, o projeto rortyano difere do marxismo, porque não quer uma ligação forte entre teoria e utopia. Está distinto de Adorno por não desejar nenhuma ligação tênue entre utopia e teoria ou uma completa indiferença da teoria em relação à utopia. Por outro lado, nega Weber e Foucault, porque não é descrente em relação às utopias. Não se trata de uma filosofia política que quer uma volta às utopias anistóricas ou um voto de confiança nas utopias históricas, mas um modo de ver as utopias como situações pouco claras, em que o contorno vago do projeto do Welfare State talvez possa servir apenas como um indicativo - algo como um mínimo, que permanece em um "contínuo sonhar por mundos nunca antes sonhados". Afinal, quem nos garante que não teremos melhores ideias no futuro que até então nunca tivemos? Richard Rorty é o filósofo que se destacou nessa posição singular (Quadro 3.1: Teoria, filosofia, utopia).
O Quadro 3.1 é uma esquematização para o seguinte entendimento: as sociedades ideais dos utopistas clássicos (Platão, Santo Agostinho, Morus, Rousseau etc.) são simplesmente cidades utópicas no sentido forte da palavra - utopia, nesse caso, quer dizer "lugar nenhum" e, em certo sentido, abraça também o termo ucronia que é "lugar nenhum em tempo nenhum". Por isso mesmo, seus autores podem traçar tais cidades em detalhes de arquitetura, de vida da organização social, de proposta pedagógica, de forma de casamento etc. Seus autores não querem ver tais cidades realizadas, mas desejam, sim, mostrá-las como espelhos negativos das sociedades vigentes. São bem delineadas exatamente, porque não devem se realizar, servindo como um recado aos homens das sociedades vigentes: "Olhem o que é perfeito e ao menos percebam o quanto vocês vivem na imperfeição".
Quadro 3.1 - Teoria, filosofia, utopia
T = Teoria; F = Filosofia (fundacionalista); U = Utopia (no sentido forte); u = Utopia vaga; f = Filosofia não fundacionalista.
As sociedades projetadas, típicas do século XIX e do início do XX, como as derivadas do marxismo, são sociedades nas quais a utopia é vista como algo a ser realizado pela teoria, e ambas se alimentam mutuamente por tentativas de legitimação circular: são corretas porque correspondem à realização da teoria, e a teoria é correta porque fez tais sociedades.
O neopragmatismo de Rorty, por sua vez, não fala em teoria, e sim em filosofia (com "f", e não com "F"), e também não fala em Teoria, com "T", mas, às vezes, com "t", e vê que a filosofia pode ser uma forma de argumentação para convencer os outros de que um "mundo melhor" pode ser construído, uma utopia meio vaga, ainda não delineada claramente, até porque o pragmatismo, sendo um historicismo linguístico, vê a sociedade em contínua mudança. A filosofia, no caso a própria doutrina rortyana, vê-se como um discurso ad hoc, que pode colaborar com os discursos dos que gostem da ideia de uma utopia vaga, uma utopia que permita espaço para a mudança, para a contingência, para o "sonho antes nunca sonhado".
A questão que surge, para a Rorty, é a seguinte: como uma filosofia que não advoga um conhecimento de segunda ordem capaz de legitimar de uma vez nosso sistema político, nossa narrativa moral e nossa prática legislativa, pode querer ser uma filosofia que faz o elogio da intervenção e não da contemplação? Pois, afinal, o pragmatismo é uma filosofia da intervenção (contra a ideia "grega" da filosofia como contemplação). Em outras palavras, como Rorty fala da "eficácia da filosofia"? No que a filosofia, em especial uma filosofia pragmatista, pode contribuir para a política, a ética e o direito, uma vez que ela não quer fundamentar absolutamente nada, nenhuma determinada posição política, nenhuma determinada doutrina do direito?
Rorty defende a ideia de que, em um sentido amplo, o pragmatismo é negativo; ele deve servir principalmente para remover o lixo das "ideias velhas", deve limpar o terreno colocando o que é caduco de lado. Por exemplo, ao discursar para as feministas, ele lhes sugere uma maior coerência: elas teriam mais sucesso, ele diz se fizessem política usando o instrumental filosófico do pragmatismo que usando teorias que são resquícios da metafísica, uma vez que a metafísica está na berlinda e as metanarrativas, no mundo atual, têm um prestígio baixo. Se as feministas apelam para a defesa da identidade de grupo por conta de alguma "essencialidade" feminina ou algo como a "natureza da mulher" ou, ainda, "o modo social de como a mulher é", o próprio feminismo cai por terra por engessar sua plataforma de mudanças políticas e de conquistas de novos direitos legais. Se não engessa no momento, vai engessar em um futuro próximo, quando alguém tiver uma ideia melhor sobre "direitos da mulher" que vierem a contrariar qualquer definição já consagrada sobre o "que é o feminino". O mesmo raciocínio vale para as lutas de outras minorias como homossexuais, negros, crianças etc. Também vale para setores sociais que ganharam identidade antes desses, como "os pobres", "os trabalhadores" etc.
É por isso que Rorty advogou o pragmatismo como uma doutrina de caráter ad hoc, como filosofia que se engaja na colaboração com uma prática política de mudanças. O pragmatismo não dá fundamentos, mas certamente pode ser capaz de colaborar na criação de uma nova autoimagem de nós mesmos, possibilitando que a "política de mudanças" seja preferida e a política conservadora seja preterida. O pragmatismo, para Rorty, não é Teoria, mas pode gerar, sim, boas narrativas para o convencimento das pessoas de que elas se dariam melhor se adotassem novas condutas, dentre as quais, é claro, as condutas linguísticas mudancistas, uma vez que é com novos discursos que se muda o rumo de várias condutas e situações.
Assim, no Quadro 3.1 , como se pode ver, "/-F+u=fu" Ou seja, se tiramos "F" ficamos só com "u", o que temos é uma utopia que tem uma relação ad hoc com u.
Isso pode parecer um relativismo. Na explicação de Rorty, não é. Por uma razão simples: nem toda teoria ou filosofia ad hoc pode combinar com um regime social e político que busca estagnação da história. Os regimes políticos totalitários, por exemplo, convivem muito mal - se é que podem conviver - com a ideia de que há várias opções legítimas de argumentação e objetivos legítimos em doutrinas diferentes. Em geral, o ditador diz que está no poder porque é "a verdade daquela sociedade"; os ditadores e chefes autoritários propagam a ideia de que o que falam para a sociedade e da sociedade é o que expressa o que tal sociedade realmente é. Os ditadores não são simpáticos ao pragmatismo, uma vez que este aparece exatamente para dizer coisas do tipo: "Até que ponto este poder que está aí é legítimo?" e/ou "Até que ponto isto que está aí está trazendo felicidade?". Uma vez que um povo aprende que pode sempre construir novas imagens de si mesmo e do seu mundo, e que pode conferir valor de verdade a uma série de enunciados e narrativas que, até há bem pouco tempo, não eram verdadeiras, então "tudo que é sólido desmancha no ar" (a célebre frase de Marx no Manifesto comunista) torna-se um refrão que pode a qualquer momento ser relembrado, principalmente nas horas em que tudo está muito sólido, ou parece estar. Se o pragmatismo é mudancista, ele não é relativista, ele está de certo modo de braços dados com a democracia, pelo menos quando a noção desta é tomada no sentido americano da palavra, ou seja, mais como "forma social de vida" que como regime político, pois, como forma social de vida, a democracia é o caminho para que se permita mudança contínua.
Como outras filosofias oriundas da América, o pragmatismo apareceu associado a determinadas variantes do liberalismo. Este, uma vez casado com a democracia, criou uma filosofia política, em especial na América, bastante peculiar.
A democracia não é, nos Estados Unidos, um regime de governo, ela é uma forma social de vida. Poucos estadunidenses, conservadores, liberais ou radicais, imaginam que se possa viver de uma outra forma que não em uma democracia. Votar ou ser votado, representar ou ser representado, às vezes, importa pouco, é sabido, mas, viver sob a regra do aumento de oportunidades, para muitos, é um ideal que não sai da cabeça dos que nasceram nos Estados Unidos e dos milhares que não nasceram, mas que lutam para entrar no país e usufruir da "América".
Por isso mesmo, a filosofia política produzida nos Estados Unidos nos últimos anos criou teorias preocupadas com os problemas advindos da democracia: problemas internos a respeito de direitos individuais e de justiça social, por um lado, e problemas externos de relacionamento com os que estão sob o teto não democrático ou que não vivem segundo os padrões modernos do Ocidente, por outro lado. Isso se deu no contexto da necessidade de revalorização dos benefícios, então, já pouco vigentes, da construção do Welfare State a partir do New Deal.
Para cada um dos problemas citados, os Estados Unidos forneceram ao mundo uma filosofia política de primeira linha. Robert Nozick escreveu sobre direitos individuais (e propriedade); John Rawls escreveu sobre igualdade e justiça, e Richard Rorty escreveu sobre lealdade.
Robert Nozick (1938-2002) é o autor do clássico Anarchy, State and Utopia (1974), em que advoga que os direitos básicos são os de vida, liberdade e propriedade. Todavia, é o direito de propriedade - a propriedade legalmente adquirida - que pode, de certo modo, ser a base para outros direitos. Um Estado que infrinja esse direito começaria a promover a injustiça, seja ele um estado democrático ou não. Assim, qualquer que seja o modo de distribuição de dinheiro que a democracia possa promover se insistir em tal tarefa, estará infringindo um direito básico, que é a garantia da propriedade legal, o que iniciaria uma situação de corrupção dos direitos.
Em geral, o contraponto a esse tipo de pensamento no plano liberal é de John Rawls (1921-2002), no seu clássico Theory of Justice (1972). A parte central do trabalho explicita dois princípios para um novo e hipotético contrato social. O primeiro princípio diz que cada indivíduo tem de ter o direito à máxima igual liberdade compatível com uma liberdade do mesmo tipo para todos. O segundo princípio tem duas partes: na primeira parte, afirma-se que as diferenças sociais e econômicas têm de estar atreladas à abertura igual para todos de empregos e posições, em condições justas de igualdade de oportunidades; na segunda parte, fala-se que as tais diferenças são justificadas somente se dão vantagem em uma situação pior. O primeiro princípio tem prioridade sobre o segundo. Tais princípios não são regras para a política propriamente dita, mas leis para o funcionamento melhor da sociedade como um todo, em sua dinâmica total que interliga política, economia e vida social como elementos da estrutura da comunidade moderna justa.
O debate entre rawlsonianos e nozickinianos é, em grande medida, atinente ao funcionamento interno da democracia - em especial a democracia estadunidense. O ponto de atenção de Richard Rorty (1931), principalmente em seus Philosophical papers (três volumes publicados entre 1991 e 1998), no que esse filósofo tem de diferente dos outros, é o modo como ele propõe redescrever termos da polêmica eticopolítica a respeito de como o Ocidente pode lidar com "os outros". Rorty fornece meios para uma alteração da política externa da democracia estadunidense.
Em geral, quando "os outros" agem de maneira a serem leais em relação a seus clãs e nações, eles são acusados de praticar atos não racionais e, no limite, não morais. Quem é leal ao clã não pode ser devoto da humanidade e servo da razão e, então, estará sempre na iminência de cometer falta moral. Essa forma de pensar, para Rorty, advém da ética ligada à ideia de que regras morais são produtos da razão anistórica. Para ele, uma ética que leve em consideração a gênese de nossos procedimentos morais mostrará que aprendemos como "comportamento moral" antes a lealdade aos que estão mais próximos - família ou clã e, depois, cidade ou nação - que a lealdade aos que estão mais distantes. Assim, se a moralidade é construída historicamente, não há como não entendê-la como sendo graus de lealdade. Descrevendo a moralidade segundo graus de lealdade, poder-se-á, talvez, dizer dos "outros" que eles, ao serem fiéis a interesses que parecem particulares para "nós", estão sendo tão morais quanto aqueles que fizeram de seus grupos a humanidade e, de seu Deus, a razão.
Ficaria mais fácil solicitar dos "outros" que sentassem à mesa de negociação se os tratássemos tão morais quanto "nós", uma vez que o que está em questão é a lealdade ao que fornece mais vínculos, sendo que é a lealdade, segundo esse entendimento, o elemento originário da moralidade. Ficaria mais fácil solicitar de "nós" que sentássemos à mesa de negociação se pudéssemos admitir que a chamada "humanidade" não vai aderir ao que é a "nossa causa" imediatamente, uma vez que tanto "nós" quanto esse grupo enorme, que é denominado de "humanidade", ganhamos fiéis de maneira paulatina, a partir da modificação que fazemos em relação às nossas lealdades iniciais, que são para com o clã, para com a cidade, para com a nação etc.
A propriedade ganha por meios legítimos (de Nozick), a igualdade liberal (de Rawls) e os laços de lealdade como bases da construção moral (de Rorty) formam, sem dúvida, um conjunto de ideias que compõem um legado intelectual, bastante atual, que tem conseguido certo prestígio também para fora dos muros americanos.
Uma filosofia da estética trata da experiência estética, ou seja, do julgamento do belo e do gosto. A filosofia da arte, por sua vez, lida com o objeto de arte, trata das noções de "expressão" e "representação" que estão ligadas aos modos de apreciação da arte e disserta sobre a teoria da arte.
Uma parte da teoria da arte tem como tarefa mostrar as posições filosóficas paradigmáticas sobre a estética e tenta estabelecer uma noção do que é arte ou, até mesmo, busca definir a arte. Além disso, essa teoria fala sobre o valor da arte.
As teorias da arte, quando observadas segundo um panorama histórico, dão-nos ao menos cinco grandes categorias ou argumentações para dizer o que é a arte. Tradicionalmente, a arte é vista ou como mimese, forma ou expressão. De modo menos tradicional, a arte é vista como "linguagem". Filósofos contemporâneos como George Dickie e Arthur C. Danto dão alguns passos extras e tendem a definir arte a partir do que podemos chamar de "teoria institucional da arte", considerando sua dependência quanto a aspectos sociais e históricos.
Algo que atrai os estudantes para essa etapa de um curso de filosofia é, sem dúvida, a maneira que Danto aborda fenômenos da pop art como elementos que integram as galerias. A ousadia de Danto com a hipótese de fim da arte cria um alvoroço suficiente entre alunos, e isso mantém esse campo, o da estética, na linha de curiosidade até mesmo dos menos afeitos à arte.
A noção de arte ou, melhor dizendo, a resposta para a pergunta "O que é arte?" encontra quatro posições básicas na história da filosofia da arte. A arte é mimese, forma, expressão ou linguagem.
A noção de mimese apareceu primeiramente em Platão (427-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.). Nesse caso, a obra de arte tem a ver com representação ou imitação ou cópia. Tal noção de arte ganhou uma vida longa. Foi predominante entre a época dos antigos gregos e o século XVIII. Atualmente, embora não tenha a mesma força que no passado, não é uma noção fora de questão.
A ideia de representação, que se associa a tal concepção de arte, induz a pensarmos que a função da obra é produzir, em um plano distinto, imagens da natureza, humana ou não. A ideia de que a obra de arte é digna pelo fato de representar objetos nos leva a requisitar elementos cognitivos em demasia para a apreciação da arte, inclusive a noção de verdade - em especial, é claro, a noção da verdade como correspondência.
Uma das saídas para a objeção da arte como representação ou cópia é a que diz que a obra de arte deve perseguir as formas. Enquanto o representacionismo coloca a obra de arte sob o jugo do real e da natureza, o formalismo coloca que a arte é a busca do melhor balanço entre os elementos da obra de arte e a conquista da mais harmoniosa presença de uniformidade com variedade - características da forma, segundo tal escola. Todavia, o formalismo é acusado de, não raro, dar vazão ao desinteresse exacerbado e fazer da obra de arte mera peça decorativa.
O formalismo não é tão popular quanto o representacionismo e quanto a ideia de arte como expressão. A teoria da arte como expressão, faz algum tempo, conquistou o senso comum. Mais que as chamadas artes plásticas, nesse caso, a poesia deu a direção para tal concepção. Benedetto Croce (1866-1952) chegou a formular a equação "arte = intuição = razão". R. G. Collingwood (1889-1943), ao considerar a expressão, no caso da arte, tomou-a como autoexpressão, e então forneceu uma ligação especial entre a obra de arte e o artista, algo até então inédito. Essa teoria resolveu alguns problemas não solucionados pelas outras concepções. Diferentemente das concepções mimética e formalista, que tomam a arte apenas pelo lado "exterior", a visão de Collingwood colocou o lado do próprio artista como central para a avaliação do que é e do que não é arte. A ideia de Friedrich W. G. Hegel (1770-1831), de que na arte a mente "reconhece a si mesma", e que no sistema de tal filósofo tem a ver com o desdobrar do Espírito no mundo, é tomada na acepção expressionista como uma maneira de psicologizar a obra de arte. Essa psicologização é a força de tal teoria - uma vez que ela acompanha o movimento histórico que, sabe-se, nos "tempos modernos", vai na direção da valorização da intimidade - e, ao mesmo, tempo seu calcanhar de aquiles. Uma forte objeção a essa teoria é a de que ela é restrita, paroquial, e não forneceria um conceito de arte propriamente dito, apenas uma qualificação de certos aspectos da obra de arte. Ela, a obra, como meio de tornar visível o "eu interior" do artista, determinaria toda a arte como delimitada por visões restritas à intimidade de cada um.
A conversa atual sobre a obra de arte deve muito ao movimento da semiótica. A obra de arte é tomada como linguagem, e isso não em um sentido metafórico. É observada e estudada a partir de categorias como significação, referência, denotação, regras sintáticas e semânticas etc. A arte é observada como um sistema de símbolos. Nelson Goodman a levou para o campo da "estética analítica", e os estudos que, em geral, são feitos a respeito da linguagem no século XX, voltaram-se para a obra de arte, da música à literatura, passando por todo o campo das artes visuais. Os defensores de tal concepção apelam para o rigor da "análise da linguagem" na "análise da arte", o que seria uma vantagem de tal concepção. Kantianos, no entanto, em favor de posições antes conquistadas, dizem que os que defendem a teoria da arte como linguagem e que apelam para regras lógicosemânticas para observá-la não percebem que a arte não pode estar dissociada, na sua apreciação e confecção, da "experiência estética". Humianos, por sua vez, dizem algo semelhante, mas em um sentido em que a psicologia ganha destaque - a psicologia humana, no que ela tem de universal, é que deve dar os parâmetros gerais da arte.
As quatro teorias da arte aqui apontadas (diante dos estudos atuais em filosofia da arte) não satisfazem. Ficam devendo algo mais significativo frente à pergunta "O que é obra de arte?".
Em 1955, Morris Weitz escreveu o célebre The role of theory in aesthetics, no qual condenou qualquer tentativa de definição de arte. A tese de Weitz tinha dois pontos básicos: primeiro, a arte não possui uma essência nem um conjunto de propriedades necessárias e suficientes que, uma vez apresentadas por cada obra de arte, permitiriam uma avaliação artística; segundo, a arte é um "conceito aberto", mutável, um campo no qual tudo tem de valer exatamente pela novidade e originalidade; sendo assim, o conceito de arte, por ele mesmo, proíbe que se possa capturar uma definição estrita de arte, algo que possa ser expresso em poucas sentenças. O segundo ponto explica o primeiro: ainda que pudéssemos estabelecer um conjunto de propriedades necessárias e suficientes da arte, para então defini-la, isso não seria possível, seria "logicamente impossível", pois contrariaria a noção de arte, o conceito de arte.
No entanto, George Dickie conseguiu, sem desmentir Weitz no todo, retomar o movimento pela definição da arte, propondo uma fórmula relativamente simples. Ele assim faz apelando para uma definição que não se contrapõe ao postulado de Weitz, que é o de distinção entre fato e valor, e que tira de circulação qualquer definição que envolva critérios de apreciação da arte. Segundo os postulados de Weitz, caberia uma definição de arte se em tal definição só nos fixássemos em aspectos classificatórios. Segundo Weitz, ainda, uma forma de saber o que é a arte, sem defini-la, é tomar a noção de "semelhança de família". Dickie não contraria Weitz em sua exigência de não falar de arte para além de critérios classificatórios, mas rejeita a noção de "semelhança de família". A "teoria institucional da arte", como Dickie a elabora, define a arte de maneira corrente: uma obra de arte, no sentido classificatório, é um artefato, e é um conjunto dos aspectos que conferem ao artefato o status de candidato à apreciação de pessoas que atuam, inteiramente ou não, nas instituições do mundo da arte (artworld).
Não é difícil perceber onde as críticas a tal definição de Dickie podem atuar. O mais fácil, para criticar, é perguntar: mas o que é o "mundo da arte" (artworld?).
A resposta de Dickie expõe a "teoria institucional da arte" como uma teoria circular, mas nem por isso não influente no pensamento atual. Aliás, a ideia do "círculo" é proposital. O livro no qual Dickie responde a seus críticos recebe o significativo título de The art circle, de 1984. Os pontos principais que, uma vez tomados em conjunto, devem nos dar a teoria de Dickie e, então, definir arte, são os seguintes:
1) um artista é alguém que participa, com entendimento, da confecção de uma obra de arte (artwork);
2) uma obra de arte (artwork) é qualquer artefato criado para ser apresentado a um público do mundo da arte (artworld public);
3) um público do mundo da arte (artworld public) é qualquer grupo de pessoas, preparadas em algum nível de entendimento, ao qual a obra de arte (artwork) é apresentada;
4) o mundo da arte (artworld) é a totalidade que abarca todos os sistemas de mundos da arte (systems artworld);
5) um sistema de mundo da arte (system artworld) é o que constitui o ambiente armado (framework) para a apresentação da obra (work) de um artista para um público do mundo da arte (artworld public).
As condições estabelecidas nos cinco pontos da teoria de Dickie definem a arte a partir da circunscrição de suas condições de produção e apresentação. Por isso, a "teoria institucional da arte", porque, em parte, lembra a maneira sociológica de lidar com a arte, precisa de um reforço que colabore com algo que Weitz reclama em seu artigo de 1955: o caráter inovador e dinâmico do conteúdo do conceito de arte. A teoria de Dickie, é fácil ver, clama por um adendo histórico. As reflexões de Arthur Danto surgiram de modo autônomo, mas serviram como o adendo histórico que poderia ser requisitado para a teoria de Dickie.
Danto foi defensor da ideia de que é necessário termos o "mundo da arte" (artworld) para que tenhamos arte. Ele mesmo foi o criador da noção de artworld, aproveitada por Dickie. Mas a teoria de Dickie lhe pareceu insuficiente, pois sua noção de "mundo da arte" tem a ver não só com a história da arte como história das obras de arte, mas com a história da arte como uma história que mostra as teorias de arte vigentes em cada tempo e lugar. A visão de Danto é a de que a obra de arte, para assim ser considerada, necessita de uma interpretação. Tal tarefa é levada adiante a partir do que um público, minimamente informado sobre arte, está disposto a tomar como obra de arte, a partir da obra que é exposta.
A teoria de Danto apresenta duas noções-chave com as quais podemos entender o que é a obra de arte. A primeira é a noção de artworld. A segunda, a de "fim da arte" ou "fim da história da arte".
A noção de artworld, em Danto, leva à ideia de uma "atmosfera" do mundo da arte (artworld atmosphere) e se assemelha, de certo modo, ao que o filósofo alemão Walter Benjamin (1892-1940) chamou de "aura", com a qual a tradição informa as obras de arte a respeito das épocas prévias a ela mesma. Artworld nada mais é que, em semelhança ao que Benjamim utilizou para explicar a noção de "aura", a sombra da história da arte sobre a obra de arte que, por sua vez, merece ser informada de sua circunscrição histórica e social para ganhar vida como obra de arte aceitável por um público de arte. Sem aura, não há obra de arte. Sem artworld não há como a obra de arte se mostrar como obra de arte.
A posição de Danto é um elemento de uma grande e complexa teoria da arte e de uma filosofia da história da arte. Ao seguir o rastro da artworld, deparamo-nos com a noção de Danto de filosofia da história da arte e com a sua segunda noção-chave: a de "fim da arte" ou "fim da história da arte".
A teoria de Danto possui dois pontos básicos que são, ao mesmo tempo, situações de partida e de chegada. Sua história da arte, seguindo o modelo hegeliano de história do Espírito, caracteriza-se por um movimento a fim de uma maior autoconsciência da arte. A noção de "fim da arte", em Danto, possui dois lados. Pelo lado dos artistas, a arte chega a seu "fim" quando, por exemplo, Marcel Duchamp ou Andy Warhol provocam filósofos ou intelectuais como Danto, pois filosofam com a arte. Pelo lado dos filósofos, a arte chega ao seu "fim" porque ela, em graus elevados de autoconsciência, ganha aspectos que só a filosofia pode ter - a visão do Espírito por ele mesmo; nesse caso, a "crítica de arte" (com a ajuda do filósofo) se torna a ressonância e a reflexão de detalhes colocados pelos artistas.
Figura 4.1 - Brilho Boxes e Fountain.
Danto avalia que, no "fim da arte", as linhas de fronteiras que separam a arte da reflexão filosófica sobre a arte são borradas. Ambas as atividades, de certo modo, passam para as mãos do artista. Ele próprio, o artista, não só por meio de comentários sobre sua obra, mas principalmente mediante sua própria obra, passa a teorizar sobre a arte. Assim, na época do "fim da arte", os heróis da arte, para Danto, são figuras como Marcel Duchamp, com seu Fountain, e Andy Warhol, com suas Brillo Boxes (Figura 4.1, Brillo Boxes e Fountain).
O próprio Danto, portanto, como crítico de arte do jornal americano The Nation, funciona como uma espécie de narrador da história da arte em seu momento de completude, em seu "fim", e deixa de lado o que seria o trabalho do filósofo que faz "filosofia da arte" como uma teorização sobre a arte para além do que poderiam fazer os próprios artistas. Considerando que Danto faz filosofia da arte, então isso ocorre não no sentido tradicional, aquele que coloca a filosofia como um elemento superior que pode "dar conta da arte", mas como o escritor que fala de artes (em especial das artes visuais, no caso de Danto) a partir do que os artistas dizem que deve ou pode ser falado. A arte, no momento de sua completude, em seu "fim", está obviamente em seu estado de maior autoconsciência.
A preocupação específica, em arte, é com o problema filosófico de distinguir aquilo que, no âmbito da percepção, não se mostra distinto. Assim, o aparecimento das caixas de sabão de Warhol e os ready-mades de Duchamp, para Danto, são particularmente o momento da emergência, no âmbito da arte, de um problema de distinção que no âmbito da filosofia tem seu correspondente em célebres buscas de distinções, aquelas levadas a cabo, por exemplo, por Descartes, Kant e Wittgenstein.
Danto, em seu The philosophical disenfranchisement of art (1986), relata o problema da seguinte maneira:
Surge uma questão filosófica sempre que temos dois objetos que parecem, em todas as suas particularidades relevantes, como iguais, mas que pertencem a categorias filosóficas diferentes. Descartes, por exemplo, supôs que sua experiência em sonho poderia ser indistinguível de sua experiência em vigília, de modo que nenhum critério interno poderia separar o que é a ilusão e o que é conhecimento. Wittgenstein notou que nada havia para distinguir entre alguém levantando seu braço e alguém que tem o braço erguido por outro, apesar de a distinção entre a mais simples ação e um movimento corporal parecer fundamental para o modo que pensamos nossa liberdade. Kant buscou um critério para a ação moral no fato de que ela é levada adiante a partir de princípios antes que, simplesmente, por conformidade com aqueles princípios, mesmo que o comportamento exterior pudesse tornar ambos indistintos. Em todos esses casos, alguém deve buscar as diferenças fora dos exemplos justapostos e enigmáticos, e este não é senão o caso de quando buscamos explicar as diferenças entre obras de arte e coisas meramente reais que ocorrem exatamente à semelhança delas.
Este problema poderia ter surgido em qualquer época, e não apenas com alguma mínima coisa do tipo que se poderia suspeitar que fossem as Brillo Boxes.
Para explicar tal fenômeno, Danto arrisca expor uma noção inicial do que é arte:
As obras de arte são representações, não necessariamente no velho sentido de se assemelhar a seus temas, mas em um sentido mais amplo de que é sempre legítimo perguntar sobre do que se trata uma determinada obra. As caixas de Warhol eram, claramente, a respeito de alguma coisa, tinham um conteúdo e um significado, produziram uma expressão, mesmo que de um tipo metafórico. De um modo curioso, elas produziram um tipo de enunciado sobre arte, e incorporaram em sua identidade a questão do que é a identidade - e foi Heidegger quem propôs a ideia de que é parte da essência de ser um humano aquela questão de que algo é parte daquilo que é. Mas nada, remotamente como isto, poderia ser verdadeiro de uma mera caixa de sabão.
Estaria Danto, então, comprometendo-se com a noção mais ou menos platônica de arte, ou seja, a arte como representação? Com isso, não estaria Danto fazendo a obra de arte passar a subsumir-se a um tipo de epistemologia?
Danto não restringe sua noção de representação ao campo epistemológico. Ela tem um pé na epistemologia, uma vez que cria um problema daqueles que, tipicamente, aparecem no âmbito da teoria do conhecimento. Mas não só. Danto enfatiza que o que ocorre com a arte, após as Brillo Boxes de Warhol, por exemplo, deve-se ao fato de existir um caráter pictórico na arte que não pode ser desprezado. Isso permite dizer que a obra de arte, em especial a obra de arte das chamadas "artes visuais", coloca, por si mesma, um problema filosófico que pode ser recortado, a saber, no âmbito de uma célebre questão filosófica: "problema dos equivalentes indiscerníveis". Isso mostra, na teoria de Danto, que a arte diz respeito a questões sobre representação e realidade, estrutura, verdade e significado, ou seja, questões filosóficas par excellence. A filosofia da arte deixa a periferia da filosofia e vai para o seu centro. No esquema hegeliano de Danto, significa que a arte ganha em autoconsciência. Danto diz, então, que "quando a arte ganha o plano de autoconsciência que é o que ela possui em nossa época, a distinção entre arte e filosofia se torna tão problemática quanto a distinção entre realidade e arte". Assim, para ele, o grau de apreciação da arte se torna uma questão de quanto a filosofia aplicada a ela pode ser superestimada.
O caráter pictórico, representacional da arte, que Danto vê como o que provoca a situação criada por Warhol e Duchamp, dá-lhe, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, uma noção de arte que é afinada com a do filósofo alemão Martin Heidegger. O filósofo alemão diz que a obra de arte é antes criadora de mundos que uma peça feita pelo mundo. Para Danto, é certo que a obra de arte precisa de um mundo, ou seja, do artworld, o "mundo da arte", ou a "aura" (para manter a aproximação com Benjamim), mas também é correto dizer que a obra de arte é uma produtora de mundos, afinal o que seria o artworld sem que a própria obra de arte estivesse ali, a todo o momento, para criar-lhe? Essa dialética entre artwork e artworld fornece um passo a mais para uma possível definição de arte em Danto. Para ele, a obra de arte é "uma representação transfigurada antes do que uma representação tout court".
Essa condição da obra de arte, que Danto enfatiza, tem duas características centrais, que dizem respeito ao que ele chama de interpretação.
Primeiro, a obra de arte depende de interpretação. Mas ela não é um texto jornalístico, que precisa ser interpretado para ser entendido. Ela é algo que se altera por ser autointerpretante - é necessário retomar Duchamp e Warhol para notar a característica que suas obras possuem e que, na ótica de Danto, revelam um traço essencial para indicarmos o que é a obra de arte. A obra de arte tem a capacidade de se transfigurar. Essa propriedade, que Danto atribui ao que ele chama de obra de arte, é uma capacidade que o texto filosófico tem. Assim, sua teoria se torna coerente com sua filosofia da história da arte: arte e filosofia, no tempo de Danto, estão com as fronteiras borradas, pois a arte ganha em autoconsciência.
Segundo, a obra de arte depende de interpretação, mas a interpretação não é qualquer uma. O que Danto entende como interpretação é, já, uma interpretação qualificada. O intérprete possui noções teóricas a respeito de arte e história da arte. Por quê? Porque uma obra de arte, ao colocar-se no interior de uma história da arte que caminha para a auto compreensão, autoconsciência, torna-se (continuamente) algo que, como interpretação que já é parte dela mesma, requer um aval capaz de abraçá-la em todo o seu esplendor. Danto, como crítico de arte do The Nation, faz parte não mais da filosofia, digamos, pura, mas da própria obra de arte e, então, da história da obra de arte que ele ajuda a contar. Arte e filosofia, no tempo de Danto, estão com as fronteiras borradas.
O que se tem, então, é que há uma forma de definir a arte não exclusivamente em Danto, mas a partir de Danto.
O papel da interpretação da obra de arte, para Danto, não é o de se colocar como uma capa sobre a arte, mas um papel constitutivo da obra de arte, em especial da obra de arte na época do "fim da arte". Interpretar, para Danto, quer dizer "dar significados". Por isso, quando há qualquer atitude de hostilidade com obras que apelam para o que seria "o absurdo" ou o "mau gosto" - o caso de artistas que usam excrementos em suas obras é um bom exemplo aqui -, a fim de colocá-las para fora de todo e qualquer artworld, e, além disso, ligam tais obras ao que seria uma herança deteriorada dos ready-mades de Duchamp (Figura 4.2, Ready-made), Danto avisa:
Duchamp [..] demonstrou que é inteiramente possível para alguma coisa ser arte sem ter a ver, absolutamente, com gosto, bom ou mau. Assim, ele coloca um fim naquele período do pensamento estético e da prática estética que era interessado, para usar um título de David Hume, em padrões de gosto. Isso não quer dizer que a era do gosto foi substituída pela era da apreciação do que não é de bom gosto. Isso quer dizer, antes, que a era do gosto foi sucedida pela era do significado. A questão não é se algo é de mau ou bom gosto, mas o que significa. É verdade que Duchamp fez isso possível ao usar substâncias e formas que induzem ou podem induzir à repulsa. Isso agora é uma opção. Mas pegar ou não tal opção é, inteiramente, uma questão de qual significado um artista pretende comunicar. Poderia acrescentar que é também uma opção, antes que um imperativo, induzir um prazer do tipo daquele associado com a beleza. Que também é uma escolha, para os artistas para quem o uso da beleza tem um significado. Não era uma opção para Duchamp, porque ele estava engajado na ultrapassagem do gosto como imperativo artístico. Mas a rejeição também é um efeito forte para associar, em qualquer grau, ao trabalho de Duchamp, ainda que o off-color, em alguns caso, tenha realmente provocado isso.
Figura 4.2 - Ready-made.
Figura 4.3 - Escola de Atenas.
A arte, para Danto, é tudo o que Dickie disse dela, mas não só. Ela é representação, porque, fazendo-se conforme é interpretada, instaura significados e, então, apresenta-se como representação em um sentido bem ampliado do termo, que implica a ideia de que ela sempre aponta para as possibilidades de transfiguração em consonância com o artworld, que ela está construindo ou modificando. A arte, para Danto, está alheia ao paradigma do gosto. Não se epistemologiza, mas, é certo, mostra-se como arte por seu valor, na história da filosofia da arte, ser da ordem do cognitivo, pois a arte de Duchamp, que tanto impressiona Danto, é exatamente uma "arte filosófica". Não é uma arte filosófica no sentido de A Escola de Atenas, de Raphael (Figura4.3), mas uma arte filosófica pelo fato de Duchamp colocar, com suas obras, todo tipo de questões que são do campo da inquietação da filosofia.
Experiência estética e atitude estética andam juntas. A atitude estética diz respeito a um tipo de "estado mental" que se estabelece diante de objetos artísticos e que pode ser estendida para outros objetos ou situações, dentro de determinadas condições gerais, gerando então a experiência estética.
A atitude estética está associada, na filosofia, ao surgimento do sujeito como elemento central da modernidade. Por isso, são os filósofos modernos que mais contribuíram para a caracterização da atitude estética. Os filósofos antigos e contemporâneos, por sua vez, deram-nos mais contribuições a respeito das condições gerais da experiência estética. Desse modo, o tema da atitude estética nos remete, principalmente, às reflexões de Immanuel Kant (1724-1804) e Arthur Schopenhauer (1788-1860), enquanto considerações sobre a apreciação da arte ou teses sobre as funções da arte apontam para Platão (427-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), de um lado, ou para a psicanálise e os filósofos contemporâneos, de outro.
Kant e Schopenhauer caracterizaram a atitude estética como ela hoje é entendida no âmbito popular. Ou seja, a atitude estética manteria, antes de tudo, um "interesse desinteressado" pelo objeto, seja este uma obra de arte ou não. Apesar de o gosto popular em relação à arte envolver emoções e sentimentos, quando o saber popular é requisitado a dizer algo sobre a experiência estética, tende a responder segundo o jargão moderno, evocando atitudes passivas de mera observação ou, mesmo, de desinteresse, não comprometimento e apatia.
No entanto, se a cultura escolar é colocada de lado, tal resposta pode vir pela trilha de Platão, Aristóteles e Freud. Há, nessa linha, a consideração de que a experiência estética é mais bem caracterizada por aqueles que tomam a arte envolvida com as paixões humanas e com o que temos de mais exacerbado no campo dos interesses.
Platão, na sua apreciação da arte, foi agressivo. Ele não tolerou o artista no interior da sua utopia, uma vez que a arte, sendo cópia, favoreceria tudo, menos o necessário para a educação mais importante da sua cidade, que era a educação do rei. Este seria, antes de tudo, filósofo, e o filósofo é quem primeiro deveria se livrar de "cópias" e tentar, sempre, estar em conexão com o real.
Aristóteles, por sua vez, achava a arte útil para a catarse, pessoal e coletiva, mas não ampliou tal discussão para um campo que só os modernos puderam ampliar - o da ligação entre subjetividade e arte. No entanto, os modernos fizeram a ligação entre tais instâncias, anularam o que, em certo sentido, seria uma das características mais importantes da subjetividade - a pessoalidade.
A ligação entre subjetividade e arte, em que a experiência estética para além da chamada atitude estética, no sentido em que esta é tomada em Kant e Schopenhauer, é a proposta pela psicanálise.
Sigmund Freud (1856-1939) foi o responsável pela visão psicanalítica da arte. Sua visão pode ser colocada em paralelo com a criada pela psicologia de Platão.
Platão é conhecido, em suas posições contra a arte e o artista, pelo lado epistemológico de sua filosofia. Ou seja, se a arte é cópia, ela é, antes de tudo, um elemento que nos afasta de tudo que o filósofo gostaria que tomássemos a sério, ou seja, "o lado de fora da caverna", o fim das ilusões, a verdade como apreensão da realidade, o que significa "ver" o mundo das formas, e não apenas como existência sensível. Mas há, também, uma objeção moral de Platão à arte.
À primeira vista, a objeção moral de Platão estaria tão unificada à sua objeção epistemológica que qualquer distinção pareceria desnecessária. Para Platão, o mundo das formas culmina na "Forma das formas", que é "o Bem". Este é o próprio meio no qual todas as formas podem deslizar e "viver". O cume do processo de conhecimento atinge a Verdade quando atinge o Bem. Aliás, atinge o Belo, também, quando atinge o Bem. Sendo assim, o sistema metafísico de Platão, no limite, é ético. Só não precisa ser tomado exclusivamente como ético porque a equação que se estabelece é a que diz que "Belo = Verdade = Bem", e que, sendo uma equação, pode ser percorrida tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, o que quer dizer que não há razão para subjugar, sem possíveis divisões e paradas metodológicas, o Belo e a Verdade ao Bem. Mas, para além, há considerações sobre a arte que são da ordem da psicologia criada no sistema platônico.
A psicologia de Platão mostra o homem com uma alma tripartida. O mais alto plano da alma abriga a razão pura, o plano intermediário abriga a coragem e, por fim, o plano mais baixo abriga as paixões, ou seja, as emoções como "paixões irracionais". A arte é condenada por Platão porque, trabalhando com "imagens", direta ou indiretamente, não se apela para o que seriam as faculdades mais altas da alma, mas sim para as faculdades mais baixas.
Freud, por sua vez, trabalhou também com uma alma tripartida: superego, ego e id. O id é a parte da alma - um dos lados do inconsciente - que guarda as "paixões antissociais e destrutivas". Trata-se do "caldeirão de sexualidade e violência". As teorias de Platão e Freud concordam que o que corresponde ao id é o que deve ser controlado, em favor da vida social. A teoria platônica faz tal controle da "parte baixa da alma" trancafiando tal parte no corpo dos indivíduos que, segundo ele, já nascem com predisposição para a atividade (social) de trabalhadores manuais. A ordem de Platão é que se tire a arte da sociedade, pois esta tentará exagerar aquilo que os indivíduos comuns, os que não devem controlar a sociedade, possuem de mais específico e próprio deles.
A teoria de Freud faz o controle da "parte mais escura e profunda da alma" relegando tal parte a um quadro de inconsciência, em que há a luta desta contra outra força profunda, o cruel superego. Este é censor, e sua racionalidade extremada é violentamente irracional. O ego, não podendo contar só consigo mesmo para controlar a irracionalidade do id, tem de agir em comum acordo com o superego para tal. O superego, como censor, cria bloqueios para a ação do id, que tem suas energias voltadas para si. Esse retorno, quando ocorre de modo satisfatório, deve produzir a "sublimação". O homem sublimado é aquele que vê suas energias agressivas e sexuais transformadas em energias aproveitáveis pelo ego, ou seja, na linguagem de Platão, pela parte superior da alma, a parte filosófica par excellence. Nesse caso, a arte não precisa ser expulsa da cidade, pois, se há a sublimação, a arte será um dos elementos de expressão do sublimado, ou mesmo um dos elementos de cooperação na sublimação.
Isso não quer dizer que Platão pode continuar sendo o carrasco dos artistas enquanto Freud, mais de vinte séculos depois, seria aquele que veio oferecer a mão filosófica da psicanálise para os que haviam sido expulsos da cidade republicana utópica. A visão de Freud não se mantém tão otimista em relação a qualquer processo de sublimação que envolve a arte quanto o faz em relação aos mesmos processos quando estes envolvem a ciência. A arte, na visão psicanalista, clama por fantasias que correspondem a prazeres infantis, o que dificulta o indivíduo submeter-se ao que ele chama de "princípio de realidade". Assim, a arte poderia, não raro, mais atrapalhar do que ajudar a sublimação.
A sublimação não bem desenvolvida é chamada pelos teóricos da Escola de Frankfurt, em especial Max Horkheimer (1895-1973), de "repressão". Os processos de sublimação que são atropelados por diversos mecanismos levam as energias do "caldeirão de violência e sexualidade" a ficar apenas adormecidas e, portanto, a retornar com fúria avassaladora se as condições sociais assim permitirem. Uma parte da bestialidade nazista, travestida de alta racionalização, é explicada por Horkheimer por meio da ideia de que o que ocorreu foi a repressão dos indivíduos sem que houvesse o tempo de maturação para ocorrer a sublimação. A arte, aqui, não é amiga nem inimiga, é um elemento indicador de possíveis revoluções e catástrofes.
O filósofo contemporâneo que dissertou diretamente a respeito da experiência estética como um tema central foi John Dewey (1859-1952). Como um tema presente no campo da filosofia da estética, o responsável pela conversação mais atual é Arthur Danto. Se Dewey é pragmatista, e Danto, em certo sentido, um filósofo analítico, o elo entre eles, para além do hegelianismo de ambos, pode ser encontrado na ideia de que a experiência estética não se desliga do caráter provocador da arte em relação a seu público social e, ao mesmo tempo, que a experiência estética está aliada à obra de arte como esta é provocada pelos acontecimentos gerais que estão além de escolas de arte, escolas estilísticas, padrões de gosto e noções de beleza.
Para Dewey, há dois tipos de mundos em que a experiência estética não ocorre: um mundo no qual tudo é fluido, sem qualquer estabilidade, e um mundo completo, em que tudo está realizado, em que não há crise. A experiência estética, para ele, é continuidade da experiência natural de vida, mas é especificada por, diferentemente de qualquer experiência, dizer respeito ao modo como as artes estão sujeitas ao que lhes provoca e o que as fazem provocar, que é a passagem do distúrbio para a harmonia, o que clama, em seguida, para novas mudanças. Em tais momentos de passagem, há uma intensificação da vida. Portanto, uma condição básica para a experiência estética.
Arthur Danto também considera a experiência estética como tendo uma dívida com o que está além do que Kant e Schopenhauer exigem do pré-requisito para a experiência estética, que é da atitude estética.
A experiência estética demanda apreciação da obra de arte. A apreciação comum da obra de arte, ou o que certos filósofos requisitam como sendo a atitude estética par excellence, é, para Danto, aquela que foi transformada em paradigma em Kant. Danto lembra que Kant supôs que a arte deveria dar prazer, mas este seria como que um prazer desinteressado, daí uma gratificação tépida, uma vez que sem conexão com a satisfação de necessidades reais ou realização de objetivos reais Assim, isso seria uma espécie de prazer narcotizado, o prazer que consiste em ausência de dor, que é exatamente o pensamento de Schopenhauer de que o valor da arte deve repousar na liberdade que ela promete separando-nos das urgências da vida real.
Danto está apartado dos filósofos que colocam a arte no mar da serenidade e a experiência estética como ligada ao prazer negativo, ou seja, a simples ausência de dor e a vida liberta de tudo que é vivo. E isso porque a experiência estética, na teoria de Danto, faz-se em contato com a arte que, por sua vez, tem a "estrutura da retórica". Mas o que significa dizer isso?
Nada além do seguinte, na avaliação de Danto: a estrutura da obra de arte é a de uma peça com a estrutura da retórica, e é o ofício da retórica modificar as mentes e então as ações de homens e mulheres por meio de cooptar seus sentimentos. Há sentimentos de várias ordens. Alguns implicam um tipo de ação e outros implicam em tipos diferentes. Não pode ser extrínseco à obra de arte que ela deveria fazer isso se a obra de arte e a retórica são a estrutura de uma mesma peça. Assim, haveria razão, afinal, para temer a arte.
Danto leva para longe da calmaria a experiência estética. Para tal, introduz um elemento novo a ser considerado na filosofia da estética quando esta fala da experiência estética, que é a retórica e, no seu interior, a metáfora.
Ao evocar a experiência estética segundo o paradigma de Danto, e não de Kant, não há como evitar voltar ao tema que a entrelaça com a experiência moral. Walter Benjamin aponta para tal vínculo, em especial quando alerta para o que seria a beleza de fotos que estampam a guerra ou a miséria. Mas a explicação de tais situações segundo os cânones do marxismo, boas para denunciar a insensibilidade crescente, não satisfaz muitos filósofos.
Em geral, o que os marxistas dizem ao analisarem os que olham para uma foto de atrocidades da guerra tomando-a com algo "belo" como "obra de arte", é que tais pessoas foram "reificadas". A reificação se dá, na explicação dos marxistas e dos teóricos da Escola de Frankfurt como, por exemplo, Theodor Adorno (1903-1969), por causa de as pessoas viverem em uma sociedade onde reina a troca de equivalentes. A mercadoria como valor de troca e não mais valor de uso se universaliza e, assim, todas as nossas relações se universalizam segundo tal padrão, ou seja, tudo é equalizado em um sentido pouco alvissareiro. Pois o que não é igual e igualado. Graças ao processo de universalização da troca de equivalentes, que nos força a pensar e a sentir de maneira abstrata, as pessoas são "alienadas" do que seriam suas próprias capacidades de pensar e sentir concretamente, caso a caso, de reconhecer então a dor do outro como uma dor que não é estranha. Os sentimentos são alterados. O capitalismo, para deixar-nos livres de amarras feudais e de outras amarras, cobra um preço alto, faz que as pessoas comecem a sentir de forma abstrata. E sentir em abstrato é nada sentir. Assim, os homens reificados usufruem de experiências estéticas que só poderiam ser assim chamadas se definidas à maneira dos neokantianos, a experiência estética é aquela em que entramos sem comprometimento, desinteressadamente.
Essa explicação marxista ou neomarxista é interessante, mas não deixa de ser uma resposta metafísica fechada, talvez até um pouco dogmática.
Na visão marxista, a experiência estética, como definida pelo neokantismo, não apreenderia a verdadeira experiência estética, mas apreenderia a experiência estética como ela ocorre em nossos dias - a da reificação de nossos sentimentos. Aliás, essa forma de ver faz que Adorno utilize uma frase curiosa, e não raro sedutora. Ele diz que a nossa realidade é tão crua que muitas vezes só uma teoria crua a apreende. O neokantismo, então, ao mostrar a experiência estética como desinteressada, como alheia à vida, refletiria melhor nossa insensibilidade, nossa condição de seres reificados.
A maneira como Danto aborda o problema é mais descritiva que a de Adorno. Danto não fala em insensibilidade. Não somos insensíveis. Sabemos disso. Ao menos não somos no nível em que Adorno quer nos fazer acreditar que somos. Se estivéssemos tão amortecidos quanto Adorno diz, não amargaríamos certas pequenas dores que, sabemos, amargamos. Danto está mais próximo de nós, os que sentem dor e sabem que sentem, quando discute não as nossas incapacidades que seriam irre movíveis, mas sim como é que certas resistências se quebram e, então, como a arte pode ultrapassar o que seriam nossas fronteiras morais.
Nessa discussão, Danto lança mão do nu na produção artística em confronto com os sentimentos de vergonha e orgulho. Ele atenta para o que chama de "direito dos indivíduos sobre o modo como eles aparecem". Experiência estética e experiência ética se cruzam em Danto. Fazem-no, então, em um campo especial: o do espelho. Danto toma a questão de tal cruzamento pela "ética de degradação estética". O cerne da questão é discutido por Danto levando em conta várias situações exemplares. As fotos do travesti Candy Darling, feitas por Richard Avedon e Peter Hujar, são o mote.
Candy Darling é um travesti que sonha ser uma Lana Turner ou Kim Novak quando jovem. Ela se torna atriz de Andy Warhol. No filme Flesh, de 1968, ela aparece com longos cabelos loiros, em poses que buscam mostrar mais feminilidade do que qualquer outra coisa. É assim que ela quer ser vista: como mulher. Danto mostra detalhes biográficos para afirmar tal intenção. Uma das fotos, a de Peter Hujar, que mostra Candy Darling na cama, é preparada pelo fotógrafo, inclusive com acréscimos de detalhes e, segundo a visão de Danto, respeita o que seria o desejo da modelo. A foto de Richard Avedon é, talvez, mais conhecida. Trata-se de Andy Warhol and members of the factory. A foto mostra Warhol junto com homens e mulheres nus, exceto uma mulher e o próprio Warhol. Os homens estão separados das mulheres. Candy Darling aparece com cabelos longos, como no famoso quadro da Vênus de Botticelli (que Warhol também utiliza), portanto bastante feminina, mas com o pênis à mostra (Figura4.4, duas fotos de Candy Darling). Danto avalia que o que coloca Candy Darling na foto é tão somente a indução do fotógrafo. Ela não poderia ficar fora de uma foto que iria se tornar célebre, com certeza. Seria difícil, para alguém que amava estar em revistas de cinema, não se deixar fotografar naquela hora. O que Danto diz é que em razão daquela oportunidade (glamour, moda, cinema etc.), Candy Darling traiu sua verdadeira identidade. "Quando falo de Avedon como agressivo", comenta Danto, "quero dizer que ele não só desconsiderou os valores de Candy Darling, ele forçou que ele se rendesse. Acho aquilo uma imagem excessivamente cruel.
Paulo Ghiraldelli Junior
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















