



Biblio VT




Meu nome é Arthur C. Clarke, e desejaria não ter relação alguma com todo este sórdido assunto. Mas como a integridade moral, repito, moral, dos Estados Unidos está comprometida, primeiro devo mostrar meus créditos. Só assim compreenderão vocês como, com a ajuda do defunto doutor Alfred Kinsey, provoquei involuntariamente uma avalanche que pode varrer com grande parte da civilização ocidental.
Lá em 1945, sendo operador de radar na Real Força Aérea, tive a única idéia original de minha vida. Doze anos antes que o primeiro Sputnik começasse a emitir sinais, me ocorreu que um satélite artificial seria um lugar maravilhoso para transmitir televisão, pois uma estação a vários milhares de quilômetros de altura poderia radiar para a metade do globo. Escrevi a idéia na semana posterior a Hiroshima, propondo uma rede de satélites de retransmissão a trinta e cinco mil quilômetros por cima do Equador; a essa altura demorariam exatamente um dia em completar uma revolução, e assim permaneceriam fixos sobre o mesmo ponto da Terra.
Esse trabalho apareceu no Wireless World no número de outubro de 1945; como não esperava que os instrumentos espaciais chegassem a ser comercializados durante minha vida, não tentei patentear a idéia; de todas as formas, duvido que tenha podido fazê-lo. (Se estou equivocado, preferiria não sabê-lo.)
Mas continuei inserindo-a em meus livros e hoje em dia a idéia de satélites de comunicação é tão comum que ninguém conhece sua origem. Fiz um dolorido intento de elucidação quando fui abordado pelo Comitê de Astronáutica e Exploração Espacial da Câmara de Representantes; vocês encontrarão meu testemunho na página trinta e dois de seu relatório “Os próximos dez anos no espaço”. E, como vocês verão em seguida, minhas últimas palavras tinham uma ironia que não pude apreciar no momento:
“Vivendo como vivo no Longínquo Oriente, constantemente tenho à vista a luta entre o Mundo Ocidental e a URSS pelos milhões não comprometidos da Ásia... Quando as transmissões de televisão via satélite forem possíveis, o efeito propagandístico pode ser decisivo...”
Ainda penso o mesmo, mas havia ângulos que eu não previ... e que outras pessoas, desgraçadamente o fizeram.
Tudo começou em uma dessas recepções oficiais tão características da vida social nas capitais asiáticas. São mais comuns ainda no Ocidente, é obvio, mas no Colón não há muita competência de entretenimentos. Pelo menos uma vez por semana, se a gente for alguém, recebe um convite para coquetéis em uma embaixada ou legação, o Conselho Britânico, a Missão de Operações dos EE.W., L'Alliance Française, ou uma das incontáveis agências alfabéticas engendradas pelas Nações Unidas.
No princípio, nos sentindo mais cômodos sob o Oceano Índico do que em círculos diplomáticos, meu sócio e eu fomos pessoas insignificantes, e nos deixavam em paz. Mas logo depois que Mike apadrinhou a excursão do Dave Brubeck no Ceilão, toda a gente começou a fixar-se em nós. E mais ainda quando Mike desposou uma das beldades mais conhecidas da ilha. De modo que agora nossa consumação de coquetéis e canapés está limitada principalmente pelo rechaço a abandonar nossos cômodos sarongs por absurdos ocidentais como calças, smokings e gravatas.
Era a primeira vez que íamos à Embaixada Soviética, que dava uma festa para um grupo de oceanógrafos russos que acabavam de chegar ao porto. Sob os inevitáveis retratos do Lênin e Marx, um par de centenas de convidados de todas as cores, religiões e idiomas, formavam redemoinhos falando com amigos, ou atacando obsessivamente a vodca e o caviar. Eu estava separado de Mike e Elizabeth, mas os via o outro lado da sala. Mike fazia seu ato de “Ali estava eu a cinqüenta braças” frente a um auditório fascinado, enquanto Elizabeth o olhava enigmaticamente... e mais gente ainda olhava para Elizabeth.
Desde que perdi um tímpano procurando pérolas na Grande Barreira de Coral, vejo-me em desvantagem nestas reuniões; o ruído de superfície é uns doze decibéis mais alto do que eu posso dominar. E isso não é pouca desvantagem quando nos apresentam alguém com nomes como Dharmasiriwardene, Tissaveerasinghe, Goonetilleke, e Jayawickrema. Portanto, quando não estou assaltando o bufê, procuro um lugar relativamente tranqüilo, onde tenha alguma possibilidade de seguir mais de cinqüenta por cento de qualquer conversação em que pudesse ver-me metido. Estava dentro da sombra acústica de uma enorme coluna, estudando a cena com meu ar de indiferença tipo Somerset Maugham, quando notei que alguém me olhava com essa expressão de “Não nos vimos antes?”
O descreverei com algum cuidado, porque deve haver muita gente que pode identificá-lo. Tinha trinta e tantos anos, e supus que era norte-americano. Mostrava o esmero, o corte de cabelo, o ar do homem acostumado a andar pelo Rockfeller Center; essa aparência que era marca de pureza até que os diplomáticos jovens e os conselheiros técnicos russos começaram a imitá-la com tanto êxito. Media um metro e oitenta, tinha ardilosos olhos castanhos e cabelo negro, prematuramente cinza nas têmporas. Embora eu estivesse bastante seguro de que não nos tínhamos encontrado nunca antes, seu rosto recordava alguém. Demorei um par de dias em me dar conta de quem: recordam o defunto John Garfield? Era tão parecido que quase não havia diferença.
Quando um estranho me chama a atenção em uma festa, meu procedimento clássico entra em ação automaticamente. Se parece uma pessoa agradável, mas não tenho desejos de conhecê-la no momento, uso com ela o “Olhar Neutro”, deixando que minha vista a percorra rapidamente sem uma piscada de reconhecimento, embora não com verdadeira hostilidade. Se parecer um louco, recebe o Coup d'oeil, que consiste em um largo olhar de incredulidade, seguido de uma visão sem pressa de minha nuca. Em casos extremos se pode adicionar uma expressão de asco durante uns milésimos de segundo.
Geralmente a mensagem chega.
Mas este personagem parecia interessante e eu me estava aborrecendo, assim lhe ofereci a “Saudação Afável”. Minutos depois se aproximou entre as pessoas e eu voltei para ele meu ouvido são.
— Olá — disse (sim, era norte-americano) — meu nome é Gene Hartford. Estou seguro de que nos encontramos antes.
— É muito possível — respondi. — passei muito tempo nos Estados Unidos. Sou Arthur Clarke.
Em geral isso produz um olhar vazio, mas algumas vezes não. Quase pude ver as fichas IBM revoando atrás desses duros olhos pardos, e me adulou sua rapidez.
— O escritor de ciência?
— Assim é.
— Bom, isto é extraordinário. — Parecia genuinamente surpreso. — Agora sei onde o vi. Foi uma vez no estúdio, quando você estava no programa do Dave Garroway.
(Poderia valer a pena seguir esta pista, embora o duvidasse; e estou seguro de que esse “Gene Hartford” era falso; era muito artificial.)
— Então você está na televisão? — perguntei-lhe. — O que faz aqui? Recolhe material, ou simplesmente está de férias?
Brindou-me o sorriso franco e amistoso do homem que tem muito para esconder.
— Oh, mantenho os olhos abertos. Mas isto é surpreendente. Li seu livro A exploração ao espaço quando saiu em... é...
— Em cinqüenta e dois; o Clube do Livro do Mês nunca voltou a ser o mesmo depois.
Todo esse tempo estive tratando de julgá-lo, e embora houvesse algo nele que não me agradava, não pude saber bem o que era. De toda forma, eu estava disposto a fazer grandes concessões a uma pessoa que tinha lido meus livros e que, além disso, trabalhava na televisão; Mike e eu sempre estamos procurando negociações para nossos filmes submarinos. Mas essa, para dizê-lo brandamente, não era a linha de negócios do Hartford.
— Olhe — disse ansiosamente — estou trabalhando em um assunto importante para uma cadeia de televisão que lhe interessará; na realidade, você ajudou a me dar a idéia.
Isto soava prometedor, e meu coeficiente de avareza saltou vários pontos.
— Me alegro. Do que se trata?
— Não posso discuti-lo aqui. O que lhe parece se nos encontramos em meu hotel, amanhã às três?
— Me deixe ver a agenda; sim, está bem.
No Colón há somente dois hotéis freqüentados por norte-americanos e acertei na primeira vez. Estava no Mount Lavinia e, embora possivelmente vocês não saibam, viram o lugar onde tivemos nosso bate-papo privado. Perto da metade da ponte sobre o rio Kwait há uma breve cena em um hospital militar, onde Jack Hawkins conhece uma enfermeira e lhe pergunta onde pode encontrar Bill Holden. Temos uma fraqueza por este episódio, porque Mike era um dos oficiais navais convalescentes que se vêem no fundo. Se olharem atentamente, o verão na extrema direita, com barba, em pleno perfil, assinando com o nome do Sam seu Spiegel na sexta volta de bar. Tal como aconteceu no filme, Sam podia permitir-lhe isso. Foi aqui, nesta mesinha diminuta, sobre as praias rodeadas de palmeiras, que Gene Hartford começou a falar... e minhas ingênuas esperanças de benefícios financeiros começaram a evaporar-se. Quanto aos motivos de Gene Hartford, se é que ele mesmo os conhecia, ainda não estou seguro. A surpresa de me encontrar e um equivocado sentimento de gratidão (do qual eu teria prescindido com alegria) jogaram indubitavelmente seu papel, e apesar de todo seu ar de confiança deve ter sido um homem amargurado e só que necessitava desesperadamente de aprovação e amizade.
De mim não obteve nenhuma dessas coisas. Sempre tive algo de compaixão pelo Benedict Arnold, como deve tê-la qualquer um que conheça todos os aspectos do caso. Mas Arnold só traiu ao seu país; ninguém, antes do Hartford, tratou de seduzi-lo.
O que desvaneceu meus sonhos de dólares foi a notícia de que a conexão do Hartford com a televisão norte-americana havia se quebrado, algo violentamente, no princípio da década de cinqüenta. Estava claro que o tinham jogado da Avenida Madison por filiar-se ao Partido, e também estava claro que, neste caso, não tinham cometido nenhuma injustiça. Embora falasse com certa fúria controlada de sua luta contra a torpe censura, e chorasse por uma brilhante, embora inominada, série de programas culturais que teria começado justo antes que o jogassem fora do ar, a essa altura eu começava a cheirar tantos ratos, que minhas respostas eram muito cautelosas. Meu interesse pecuniário no senhor Hartford diminuía, mas minha curiosidade pessoal aumentava. Quem estava por trás dele? Não a BBC...
Quando conseguiu tirar do corpo toda a auto-compaixão, falou finalmente do assunto:
— Tenho uma notícia que o fará levantar-se — disse presumidamente. — As cadeias norte-americanas terão logo competência. E será na forma que você predisse. A gente que enviou à Lua um transmissor de televisão pode pôr um muito maior em órbita ao redor da Terra.
— Felicito-os — falei cautelosamente. —Sempre estou a favor da sã competência. Quando o lançam?
— A qualquer momento. O primeiro transmissor o estacionarão ao sul de Nova Orleans; no Equador, claro. Isso significa que estará bem fora sobre o Pacífico; não ficará sobre o território de nenhuma nação e não surgirão, portanto, complicações políticas. Entretanto estará ali no céu, bem à vista de todo o mundo, de Seattle ao Key West. Pense: a única estação de televisão que se poderá sintonizar em todos os Estados Unidos! Sim, inclusive o Havaí! Não haverá forma de provocar interferências; pela primeira vez haverá um canal que pode entrar em cada lar norte-americano. E os Boy Scouts do J. Edgar não podem fazer nada para bloqueá-lo.
“De modo que essa é sua pequena fraude”, pensei; “pelo menos é franco.”
Faz tempo que aprendi a não discutir com marxistas, mas se Hartford dizia a verdade, queria lhe surrupiar tudo o que fosse possível.
— Antes que se entusiasme muito — falei — há alguns pontos que você pode ter esquecido.
— Por exemplo?
— Isto funcionará em duas direções. Todos sabem que a Força Aérea, a NASA, os Laboratórios Bell, a I.T.T, Hughes, e outras várias dúzias de agências estão trabalhando no mesmo projeto. Algo que a Rússia faça aos Estados Unidos em matéria de propaganda lhe será devolvido do mesmo modo.
Hartford sorriu com tristeza.
— Caramba, Clarke! — disse. (Alegrou-me que não me chamasse pelo nome.) Estou um pouco desiludido. Você deve saber que os Estados Unidos levam vários anos de atraso em capacidade de carga. Você crê que o velho T.3 é a última palavra da Rússia?
Foi nesse momento que comecei a tomá-lo muito a sério. Tinha toda a razão. O T.3 podia transportar pelo menos cinco vezes mais carga útil que qualquer foguete norte-americano a essa órbita crítica de trinta e cinco mil quilômetros, a única permitiria a um satélite permanecer fixo sobre a Terra.
E quando os Estados Unidos pudessem igualar essa façanha só o céu sabe onde estariam os russos. Sim, o céu saberia seriamente...
— Muito bem — concedi. — Mas por que cinqüenta milhões de lares norte-americanos teriam que começar a trocar de canal logo que possam sintonizar Moscou? Admiro aos russos, mas seus entretenimentos são piores que sua política. Tirando o Bolshoi, o que fica?
Recebi outra vez aquele sorriso triste e estranho. Hartford tinha guardado o golpe mais forte.
— Foi você quem trouxe os russos à conversa — disse — Estão nisto, certo; mas só como empreiteiros. A agência independente para a qual trabalho paga os seus serviços.
— Essa — observei friamente — deve ser uma grande agência.
— E é; a maior. Embora os Estados Unidos pretendam que não existe.
— Oh — eu disse, algo estupidamente. —De modo que esse é seu patrocinador.
Já tinha ouvido esses rumores de que a URSS ia lançar satélites para os chineses; agora parecia que os rumores deixavam vislumbrar parte da verdade.
— Você tem toda a razão — continuou Hartford que, obviamente, estava se divertindo — sobre os entretenimentos russos. Logo depois da novidade inicial, o índice de audiência baixaria a zero. Mas não com o programa que eu projeto. Meu trabalho é encontrar material que deixe todos outros canais fora de combate quando for ao ar. Você acredita que não se pode fazer? Termine essa bebida e suba ao meu quarto. Tenho um longo filme sobre arte religiosa que eu gostaria de lhe mostrar.
Bom, não estava louco, embora durante alguns minutos eu duvidasse. Podia pensar poucos títulos melhor calculados para que o espectador sintonizasse o canal que o que apareceu na tela: ASPECTOS DA ESCULTURA TÂNTRICA DO SÉCULO XIII.
— Não se inquiete — riu Hartford, sobre o zumbido do projetor. — Esse título economiza-me problemas com os inspetores de Alfândega. É correto, mas o trocaremos por algo mais atraente quando chegar o momento.
Sessenta metros mais adiante, logo depois de umas longas tomadas inócuas de arquitetura, compreendi o que queria dizer.
Vocês sabem que há, em certos templos na Índia, inúmeras esculturas soberbamente executadas, de um tipo que nós no Ocidente jamais associaríamos com religião. Dizer que são francas é risível; não deixam nada à imaginação... qualquer imaginação. Mas ao mesmo tempo são genuínas obras de arte. E também o era o filme do Hartford.
Tinha sido filmado, caso lhes interesse, no Konarak, o Templo do Sol. Logo me informei; está na costa da Orissa, uns trinta e cinco quilômetros ao noroeste do Puri. Os livros de referência são bastante tímidos; alguns se desculpam pela “óbvia” impossibilidade de mostrar ilustrações, mas a Arquitetura hindu de Percy Brown não economiza palavras. As esculturas, diz, são de “um desavergonhado caráter erótico que não tem paralelo em nenhum edifício conhecido”. Parece exagero, mas acredito nisso depois de ter visto esse filme.
A fotografia e a montagem eram excelentes; a antiga pedra despertava para a vida diante das lentes. Havia largas tiras de sol afugentando sombras de corpos entrelaçados em êxtase, que deixavam sem fôlego; assombrosas tomadas, em primeiro plano, de cenas que, no princípio, a mente se negava a reconhecer; estudos brandamente iluminados de pedra esculpida por um professor, em todas as fantasias e aberrações do amor; incansáveis movimentos cujo significado evitava a compreensão, até que se imobilizavam em desenhos de desejo intemporal, de satisfação eterna.
A música, principalmente percussão, entrelaçada com o agudo som de algum instrumento de cordas que não pude identificar, se adequava perfeitamente ao tempo da montagem. Por momentos era lenta e suave, como os primeiros compassos de “L'Apres midi” de Debussy; depois os tambores chegavam velozmente a um clímax de frenesi quase insuportável. A arte dos antigos escultores e o talento do cineasta moderno combinaram-se através dos séculos para criar um poema de êxtase, um orgasmo em celulóide que ninguém poderia presenciar sem comover-se.
Houve um longo silêncio quando a tela se inundou de luz e a música lasciva terminou de apagar-se.
— Meu Deus! — falei, quando recuperei algo de minha compostura. — Vão transmitir isso?
Hartford riu.
— Acredite — respondeu — isso não é nada; ocorre que é o único filme que posso levar comigo sem perigo. Estamos dispostos a defendê-lo, nos apoiando na verdadeira arte, no interesse histórico, na tolerância religiosa... Oh, pensamos em todos os ângulos Mas na realidade não importa; ninguém pode nos deter. Pela primeira vez na história toda forma de censura se torna impossível. Simplesmente não há maneira de aplicar a lei; o cliente obtém o que deseja, e em sua própria casa. Fecha a porta, liga o televisor; os amigos e a família jamais saberão.
— Muito engenhoso — falei — mas você não acha que uma dieta semelhante cansa muito em breve?
— É obvio; na variedade está o gosto. Teremos muitos entretenimentos convencionais; deixe que eu me preocupe com isso. E de vez em quando teremos programas de informação, odeio essa palavra “propaganda”, para dizer ao enclausurado povo norte-americano o que realmente acontece no mundo. Nossos filmes especiais serão somente a isca de peixe.
— Importa-lhe se tomo um pouco de ar fresco? — falei. — Isto está se tornando irrespirável.
Hartford correu as cortinas e deixou que a luz voltasse para o quarto. A nossos pés se estendia uma larga praia curva. As batangas dos botes de pesca se elevavam sob as palmeiras e as pequenas ondas se desfaziam em espuma, ao concluir sua fatigante marcha da África. Uma das paisagens mais formosas do mundo, mas não me pude concentrar nela. Ainda via aqueles membros retorcidos, aqueles rostos gelados com paixões que nem os séculos podiam extinguir.
A voz libidinosa continuou às minhas costas:
— Se surpreenderia caso soubesse quanto material há. Recorde, não temos nenhum tabu. Se se pode filmar, nós podemos televisioná-lo.
Caminhou até seu escritório e levantou um pesado volume, bastante usado.
— Esta foi minha Bíblia — disse — ou meu Sears, Roebuck, se você o preferir. Sem ela nunca teria vendido a série a meus patrocinadores. São grandes crentes na ciência e engoliram toda a coisa, até o último ponto.
Assenti. Sempre que entro em um quarto analiso os gostos literários do hóspede.
— O doutor Kinsey, não?
— Acredito que sou o único homem que o leu de capa a capa, em vez de olhar somente as estatísticas. Nesse campo é a única investigação de mercado. Até que apareça algo novo lhe tiraremos todo o suco. Diz-nos o que o cliente quer, e nós vamos dar-lhe.
— Tudo?
— Se a audiência for suficientemente grande, sim. Não nos preocuparemos com os camponeses tolos que se tornam viciados na mercadoria. Mas os quatro sexos principais receberão um tratamento completo. Essa é a beleza do filme que você acaba de ver: atrai todo mundo.
— Disso não cabe dúvida.
— Divertimo-nos muito planejando o filme que intitulei “Rincão do homossexual”. Não ria, nenhuma agência empreendedora pode permitir-se ignorar essa audiência. Pelo menos dez milhões, contando as damas. Se acredita que eu exagero olhe nos quiosques todas as revistas que tem de arte masculina. Não foi fácil chantagear alguns dos mais delicados e conseguir que atuassem para nós.
Viu que estava começando a me aborrecer; há certo tipo de obsessão que acho deprimente. Mas fui injusto com Hartford, como ele se apressou a provar.
— Por favor, não pense — disse ansiosamente — que o sexo é nossa única arma. Alguma vez viu o trabalho que Ed Murrow fez com o defunto Joe McCarthy? Isso não é nada, comparado com os perfis que estamos planejando em “Washington Confidencial”. E a nossa série “Você pode suportá-lo?” destinada a separar os homens dos maricas? Publicaremos tantas advertências por antecipação, que todo norte-americano se sentirá obrigado a ver o programa. Começará de forma inocente, apoiado em um tema muito bem preparado por Hemingway. Ver-se-ão algumas seqüencias de corrida de touros que literalmente o levantarão do assento, ou o enviarão correndo ao banheiro, porque mostram todos os pequenos detalhes que nunca se vêem nesses pulcros filmes de Hollywood. Seguiremos depois com um material realmente único, que não nos custa nada. Recorda as provas fotográficas dos julgamentos do NUREMBERG? Você nunca as viu porque não eram publicáveis. Havia vários fotógrafos aficionados em campos de concentração e tiraram todo o suco de uma oportunidade que não voltaria a apresentar-se. Alguns deles foram pendurados graças ao testemunho de suas próprias câmaras, mas seu trabalho não se perdeu. Será uma boa introdução para nossa série “A tortura através dos séculos”; muito erudita e exaustiva, embora de grande atrativo. E há dúzias de enfoques, mas agora você tem uma idéia. A Avenida crê saber tudo sobre Persuasão Oculta. Acredite que não sabe. Os melhores psicólogos práticos do mundo estão agora no Oriente. Recorda a Coréia e a lavagem de cérebro? Aprendemos muito depois. Já não há necessidade de violência; as pessoas gostam que lhe lavem o cérebro, se for bem feito.
— E vocês vão lavar o cérebro dos Estados Unidos... — disse. — Todo um trabalhinho.
— Exatamente. E o país adorará, apesar de todos os gritos do Congresso e das Igrejas. Sem mencionar as cadeias de televisão, suponho. São as que farão mais escândalo, quando virem que não podem competir conosco.
Hartford olhou o relógio e assobiou com alarme.
— É hora de fazer as malas — disse. — Às seis tenho que estar nesse impronunciável aeroporto. Não seria possível que você voasse a Macau alguma vez, para nos ver?
— Não, mas já formei uma boa idéia do assunto. A propósito, não tem medo que eu lhe arruíne o negócio?
— Por que? A publicidade nos favorecerá. Embora nossa campanha não saia até vários meses acredito que você ganhou este privilégio. Como lhe disse, seus livros ajudaram a me dar a idéia.
“Sua gratidão era genuína, meu Deus!” Deixou-me completamente mudo.
— Nada pode nos deter — declarou e, pela primeira vez, não pôde controlar o fanatismo que se escondia atrás da fachada amável e cínica. — A História está do nosso lado. Utilizaremos a própria decadência dos Estados Unidos contra eles mesmos; é uma arma ante a qual eles não têm defesa alguma. A Força Aérea não tentará cometer pirataria espacial, derrubando um satélite completamente afastado do território norte-americano. A Comissão Federal de Comunicações não pode sequer protestar a um país que não existe aos olhos do Departamento de Estado. Se tiver alguma outra sugestão, eu estaria muito interessado em escutá-la.
Não tinha nenhuma então e não tenho nenhuma agora. Possivelmente estas palavras possam servir de breve advertência, antes que apareçam os primeiros anúncios provocadores nos periódicos, alarmando as cadeias de televisão. Mas obterei algo? Hartford acreditava que não e talvez tivesse razão.
“A História está do nosso lado.” Não pude tirar essas palavras da cabeça. “Terra de Lincoln e Franklin e Melville, amo-te e te desejo o melhor. Mas em meu coração sopra um vento frio do passado, pois recordo a Babilônia.”
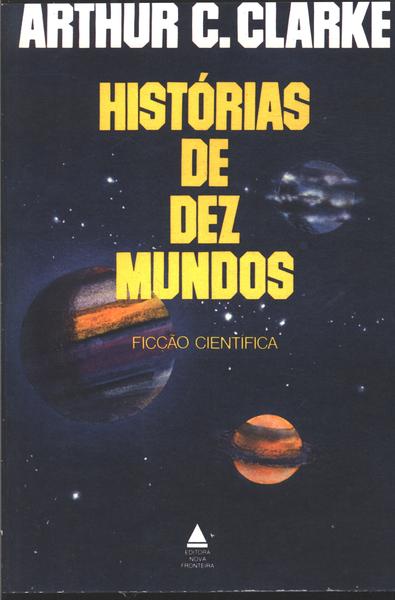
Verão em Ícaro
Quando Colin Sherrard abriu os olhos depois do choque, não compreendeu onde estava. Aparentemente se encontrava preso em algum tipo de veículo, no topo de uma colina que descia escarpadamente em todas as direções. A superfície da colina estava chamuscada e enegrecida, como se a tivesse varrido um grande fogo. Acima, sobre um céu azeviche, apinhavam-se as estrelas. Uma delas se pendurava como um sol diminuto e brilhante, muito abaixo no horizonte. Seria o Sol? Estaria ele tão longe da Terra? Não, impossível. Uma fastidiosa lembrança lhe disse que o Sol não estava tão distante para ser uma simples estrela: o Sol estava perto, espantosamente perto. E com esse pensamento, recuperou todos os sentidos. Sherrard soube exatamente o que era aquele lugar, e esse conhecimento foi tão terrível que quase voltou a desmaiar.
Estava mais perto do Sol do que homem algum tinha estado antes. Sua danificada cápsula espacial não descansava em uma colina, e sim na levantada superfície curva de um mundo de só três quilômetros de diâmetro. Essa estrela brilhante que se afundava rapidamente no oeste era a luz de Prometeu, a nave que o tinha levado através de tantos milhões de quilômetros. Prometeu flutuava entre as estrelas, perguntando-se por que sua cápsula não havia retornado como uma pomba mensageira ao poleiro. Em poucos minutos teria desaparecido da vista, caindo sob o horizonte, em um perpétuo jogo de esconde-esconde com o Sol.
Esse era o jogo que Sherrard tinha perdido. Todavia estava no lado noturno do asteróide, na fresca segurança da sombra, mas a curta noite terminaria logo. A noite de Ícaro, de só quatro horas, avançava rapidamente para o terrível amanhecer, quando um sol trinta vezes maior do que aquele que brilhava sobre a Terra, faria saltar as rochas com seu fogo. Sherrard sabia demasiado bem por que tudo a seu redor estava queimado e enegrecido: Ícaro se encontrava ainda a uma semana de seu solstício, mas a temperatura ao meio-dia tinha chegado já a quinhentos graus centígrados.
Embora este não fosse momento para humor, recordou a descrição do Capitão McClellan: “O terreno mais quente de todo o Sistema Solar”. A verdade dessa brincadeira tinha sido provada, só uns poucos dias antes, por um desses experimentos simples e pouco científico, muito mais impressionante que qualquer número de gráficos e leituras de instrumentos.
Pouco antes da alvorada, alguém colocou um pedaço de madeira no topo de uma das colinas pequenas. Sherrard olhou, da segurança do lado noturno, logo depois dos primeiros raios do sol nascente tocarem a colina. Quando seus olhos se adaptaram à súbita explosão de luz, viu que a madeira já tinha começado a enegrecer e a se carbonizar. Se tivesse havido atmosfera, o pau teria estalado em chamas; assim era o amanhecer em Ícaro...
Entretanto, quando aterrissaram pela primeira vez em Ícaro, cinco semanas antes (ao passar a órbita de Vênus), o calor não era insuportável. Prometeu alcançou o asteróide quando este começava a lançar-se para o Sol; igualou a velocidade do pequeno mundo e aterrissou em sua superfície tão brandamente como um floco de neve. (Um floco de neve em Ícaro; que pensamento...) Depois os cientistas se desdobraram em forma de leque através dos trinta e cinco quilômetros quadrados de denteado ferro-níquel que cobria a maior parte da superfície do asteróide, instalando instrumentos e postos de controle, recolhendo amostras e fazendo infinitas observações.
Tudo tinha sido cuidadosamente planejado, anos antes, como parte da Década Astrofísica Internacional. Aqui havia uma oportunidade única para que uma nave de investigação chegasse só a vinte e sete milhões de quilômetros do Sol, protegida de sua fúria por um escudo de rocha e ferro de três quilômetros de largura. À sombra de Ícaro, a nave podia flutuar segura ao redor do fogo central que esquentava todos os planetas e do qual dependia a existência de toda a vida. Como o Prometeu de lenda, que levou o presente do fogo à Humanidade, uma nave com o mesmo nome voltaria para a Terra dos planetas, carregada de segredos nunca imaginados.
Houve tempo suficiente para colocar os instrumentos e fazer o reconhecimento topográfico, antes que Prometeu tivesse que se separar, procurando a permanente sombra da noite. Mesmo então os homens, viajando em diminutas cápsulas de autopropulsão, naves espaciais em miniatura, de só três metros de largura, podiam trabalhar no lado noturno durante uma hora, enquanto não fossem alcançados pela ascendente linha do amanhecer. Essa tinha parecido uma condição simples de cumprir em um mundo onde o alvorada avança só a um quilômetro e meio por hora; mas Sherrard não a tinha completado, e a pena era a morte.
Ainda não estava certo do que tinha acontecido. Tinha estado substituindo um transmissor sismográfico na Estação 145, extra-oficialmente chamada Monte Everest porque se elevava trinta metros por sobre o território circundante. O trabalho tinha sido singelo, apesar de ter que fazê-lo por controle remoto, com os braços mecânicos da cápsula. Sherrard era um expert no manejo desses braços; podia atar nós com os dedos metálicos quase tão rapidamente como com os seus de carne e osso. A tarefa tinha levado pouco mais de vinte minutos e logo o radiosismógrafo começou a transmitir, registrando os pequenos sismos e tremores que varriam Ícaro com intensidade crescente, à medida que o asteróide se aproximava do Sol. Saber que tinha feito uma contribuição gigantesca de conhecimento não o satisfazia agora.
Logo depois de verificar os sinais, substituiu cuidadosamente as telas de revestimento ao redor do instrumento. Era difícil acreditar que duas débeis lâminas metálicas, não mais grossas que o papel, podiam desviar uma onda de radiação que derreteria o chumbo ou o estanho em segundos. Mas a primeira tela refletia mais de noventa por cento da luz solar que caía em sua superfície de espelho e a segunda desviava a maior parte do resto, de modo que tão somente as transpassava uma inofensiva fração de calor.
Sherrard informou que a tarefa estava concluída, recebeu a conformidade da nave, e se preparou para voltar. Os refletores do Prometeu, sem os quais o lado noturno do asteróide teria estado sumido em uma completa escuridão, eram um inconfundível objetivo no céu. A nave estava só a três quilômetros de altura e, na débil gravidade, ele poderia ter saltado essa distância se tivesse levado um traje espacial de tipo planetário, com pernas flexíveis. Em sua situação atual, os microcoletes de baixo poder da cápsula o levariam ali em uns cômodos cinco minutos.
Apontou a cápsula com os giróstatos, pôs os propulsores traseiros em Força Dois, e apertou o botão de ligar. Houve uma violenta explosão perto de seus pés e se encontrou afastando-se de Ícaro... mas não para a nave. Algo estava muito mal; foi arrojado para um lado do veículo e não pôde alcançar os controles. Só um dos propulsores funcionava e a cápsula girava no céu como uma roda de foguetes, cada vez mais rápido, sob o impulso desequilibrado do foguete. Tratou de encontrar a chave de desligar, mas as voltas o tinham desorientado por completo. Quando por fim localizou os controles, sua primeira reação piorou as coisas: moveu a chave para velocidade máxima como um motorista nervoso que pisa no acelerador em lugar dos freios. Demorou só um segundo para corrigir o engano e desligar o foguete, mas já girava tão rapidamente que as estrelas davam voltas ao seu redor.
Tudo foi tão rápido que não houve tempo para o medo, nem tempo para chamar a nave e informar o que estava se passando. Tirou a mão dos controles; tocá-los agora só pioraria as coisas. Retomar o rumo significaria dois ou três minutos de manobras hábeis e pelas constantes aparições das rochas, cada vez mais próximas, era óbvio que não dispunha de tantos segundos. Sherrard recordou um conselho do manual do Astronauta: “Quando não souber o que fazer, não faça nada”. Estava atendendo a esse conselho quando Ícaro caiu sobre ele, e as estrelas se apagaram.
Era um milagre que a cápsula não tivesse se quebrado e que ele não estivesse respirando no espaço. (dentro de trinta minutos possivelmente se alegraria de fazê-lo, quando o isolamento térmico começasse a falhar...) Havia alguns danos, é obvio. Os espelhos retrovisores, fora da cúpula de plástico transparente que lhe cobria a cabeça, já não estavam mais, de modo que não podia ver o que havia atrás sem torcer o pescoço. Mas esse era um contratempo corriqueiro; muito mais sério era que as antenas do rádio tinham sido arrancadas pelo impacto. Não podia chamar a nave e a nave não podia chamá-lo. Tudo o que saía do rádio era uma débil crepitação, provavelmente produzida dentro do aparelho mesmo. Estava completamente sozinho, isolado do resto da raça humana.
Embora sua situação fosse desesperadora, havia um débil raio de esperança. Apesar de tudo, não estava completamente indefeso. Embora não pudesse utilizar os propulsores da cápsula, acreditava que o motor de estibordo tinha explodido, destroçando um tubo de alimentação de combustível, algo que segundo os desenhistas era impossível, ainda podia mover-se. Tinha os braços.
Mas em que direção devia arrastar-se? Havia perdido o sentido de orientação e, embora houvesse despencado do Monte Everest, agora podia estar a milhares de metros de distância. Não havia marcas reconhecíveis neste mundo diminuto; seu melhor guia era a luz poente do Prometeu, e se pudesse manter a nave à vista estaria seguro. Que descobrissem sua ausência era questão de minutos, se já não a tinham descoberto. Mas, sem rádio, seus colegas podiam demorar um longo tempo para encontrá-lo; por menor que fosse Ícaro, em seus trinta e cinco quilômetros quadrados de terreno fantasticamente acidentado podia esconder bem um cilindro de três metros. Talvez demorassem uma hora a encontrá-lo, e isso significava que teria que adiantar-se à alvorada mortal.
Deslizou os dedos nos controles dos membros mecânicos. Fora da cápsula, no hostil vazio que o rodeava, reviveram os braços substitutos. Apoiaram-se na superfície de ferro do asteróide e levantaram a cápsula do chão. Sherrard os flexionou e a cápsula se sacudiu para diante, como um estranho inseto bípede... primeiro o braço direito, depois o esquerdo, depois o direito...
Era menos difícil do que tinha temido e, pela primeira vez, sentiu que voltava a ter confiança. Mesmo que os braços mecânicos tivessem sido desenhados para trabalhos leves de precisão, necessitava-se pouca força para mover a cápsula neste meio onde o peso quase não existia. A gravidade de Ícaro era dez mil vezes menor que a da Terra; Sherrard e sua cápsula espacial pesavam aqui uns poucos gramas, e uma vez que ficou em movimento flutuou para diante sem esforço.
Entretanto, essa mesma facilidade tinha seus perigos. Tinha percorrido várias centenas de metros e estava alcançando rapidamente a estrela poente do Prometeu, quando o excesso de confiança o traiu. (É estranho como a mente pode passar de um extremo ao outro; uns poucos minutos antes tinha escapado à morte; agora se perguntava se chegaria tarde para o jantar.) Possivelmente a novidade do movimento, tão diferente do que tinha provado antes, foi a causadora da catástrofe; ou talvez estivesse sofrendo ainda dos efeitos do choque.
Como todos os astronautas, Sherrard havia aprendido a orientar-se no espaço, e tinha se acostumado a viver e a trabalhar quando os conceitos terrestres de acima e abaixo não tinham significado. Em um mundo como Ícaro, era necessário pretender que havia um nítido, real e verdadeiro “debaixo” e que, quando alguém se movia, era sobre um plano horizontal. Se falhasse este inocente auto-engano, a vertigem espacial era inevitável.
O ataque chegou sem aviso prévio, como de costume. Subitamente, Ícaro já não pareceu estar debaixo, nem as estrelas acima. O Universo se inclinou em ângulo reto; Sherrard estava se movendo para cima por um penhasco vertical, como um alpinista que escala a parede de uma rocha e, embora a razão lhe dissesse que era só ilusão, todos seus sentidos gritavam que era real. Em um momento, a gravidade teria que arrancá-lo dessa parede e cairia interminavelmente até fazer-se pedaços no esquecimento.
Faltava acontecer o pior; a falsa oscilação vertical, ainda como uma bússola decomposta. Agora Sherrard estava sob um imenso teto de rocha, que logo voltaria a converter-se em parede: mas esta vez desceria por ela, em vez de subir...
Tinha perdido todo o controle sobre a cápsula e o pegajoso suor que começava a lhe orvalhar o rosto advertiu-o de que logo perderia o controle do corpo. Só restava uma coisa para fazer: fechou os olhos com força, se agachou o mais atrás possível no diminuto mundo fechado da cápsula, e fez como se o universo exterior não existisse. Nem sequer permitiu que o lento e suave golpe do segundo choque interferisse com sua auto-hipnose.
Quando se atreveu a olhar fora novamente, descobriu que a cápsula descansava contra um enorme canto redondo. Os braços mecânicos da cápsula tinham atenuado a força do impacto, mas a um preço maior do que Sherrard podia pagar. Embora aqui a cápsula não tivesse virtualmente nenhum peso, ainda possuía os costumeiros duzentos e cinqüenta quilogramas de inércia, e tinha estado se movendo possivelmente a uns seis quilômetros por hora. Os braços metálicos não tinham conseguido absorver o impacto; um havia se quebrado e o outro estava irremediavelmente torcido.
Quando Sherrard viu o que tinha acontecido, sua primeira reação não foi de desespero, mas sim de cólera. Tinha estado tão seguro do êxito quando a cápsula começou a deslizar sobre a árida superfície de Ícaro. E agora isto, devido somente a um momento de debilidade física! Mas o espaço não fazia concessões às fragilidades humanas nem às emoções, e um homem que não aceitava esse fato não merecia estar ali.
Pelo menos tinha ganhado um tempo precioso ao perseguir a nave; tinha posto outros dez minutos, se não mais, entre ele e a aurora. Logo saberia se esses dez minutos lhe prolongariam a agonia ou dariam a seus companheiros mais tempo para encontrá-lo.
Onde estavam? Era certo que já tinham começado a busca! Esforçou os olhos tratando de ver o fulgor da nave, com a esperança de encontrar as débeis luzes das cápsulas. Mas não se via nada novo na giratória abóbada celeste.
Era melhor que utilizasse seus próprios recursos, por exíguos que fossem. Só restavam uns poucos minutos antes que Prometeu e seus refletores afundassem sob a borda do asteróide e o deixassem na escuridão. Era certo que a escuridão seria muito breve, mas antes que caísse sobre ele poderia encontrar algum refúgio para se proteger do dia que se aproximava. Esta rocha contra a qual tinha se chocado, por exemplo...
Sim, daria um pouco de sombra, até que o sol estivesse a uma certa altura no céu. Nada poderia protegê-lo se passasse por cima dele, mas possivelmente estivesse em uma latitude onde o sol não subia muito alto sobre o horizonte nessa época do ano de Ícaro, de quatrocentos e nove dias. Então poderia sobreviver ao breve período de luz diurna; essa era sua única esperança, se os salvadores não o encontrassem antes do amanhecer.
Lá desaparecia Prometeu e suas luzes, sob a borda do mundo. Com essa partida, as estrelas resplandeceram com redobrado fulgor. Mais gloriosa que qualquer delas, tão formosa que apenas ao olhá-la quase se enchiam de lágrimas os olhos, estava ondulante luz da Terra, com sua lua ao lado. Sherrard tinha nascido em uma e caminhado sobre a outra. Voltaria a vê-las?
Era estranho que até agora não tivesse pensado na mulher e nos filhos e em tudo o que amava da vida e que agora parecia tão longínquo. Sentiu um fugaz espasmo de culpa. Os laços afetivos não estavam debilitados, nem sequer pelos cento e cinqüenta milhões de quilômetros que agora o separavam da família. Essa distância não tinha nenhum significado. Ele era agora um animal primitivo e egocêntrico que lutava por sua vida e que tinha uma única arma: o cérebro. Neste conflito não havia lugar para o coração; o coração seria um simples estorvo, que lhe danificaria o julgamento e lhe debilitaria a firmeza.
E então viu algo que desterrou todo pensamento de seu longínquo lar. Sobre o horizonte, às suas costas, estendendo-se entre as estrelas como uma bruma láctea, havia um fraco e espectral cone de fosforescência. Era o arauto do Sol, o formoso, nacarado espectro da coroa, visível da Terra só durante os estranhos momentos de eclipse total. Se a coroa ascendia, o Sol não podia estar longe, para castigar essa pequena terra com sua fúria.
Sherrard aproveitou o aviso. Agora podia julgar, com certa precisão, o ponto exato onde sairia o sol. Arrastando-se lenta e penosamente sobre os cotos quebrados dos braços metálicos, levou a cápsula até o lado da pedra onde deveria ter a maior sombra. Logo que chegou ali o sol lhe saltou em cima como uma besta de presa, e aquele mundo diminuto explorou em luz.
Sherrard levantou os filtros escuros dentro do casco, uma capa atrás da outra, até que pôde suportar o resplendor. Fora da zona coberta pela larga sombra da pedra, era como olhar dentro de um forno. Ao redor, a desumana luz mostrava cada detalhe do terreno; não havia cinzas, só brancos cegadores e negros impenetráveis. Todas as escurecidas gretas e depressões eram atoleiros de tinta, enquanto que o chão mais alto parecia já estar ardendo. E, entretanto, era só um minuto depois da alvorada.
Agora Sherrard podia compreender como o abrasador calor de um bilhão dos verões tinha convertido Ícaro em um carvão cósmico, cozinhando as rochas até lhes tirar as últimas borbulhas de gás. “Por que”, se perguntou amargamente, “os homens tinham que viajar através do abismo de estrelas, com tanto gasto e risco, para aterrissar em um depósito de lixo giratório?” Pela mesma razão, sabia, que quando lutaram por alcançar o Everest e os pólos e os lugares distantes da Terra: a excitação do corpo que era a aventura e a mais duradoura excitação da mente era o descobrimento. A resposta o consolava muito pouco, agora que estava a ponto de ser assado como um animal no giratório assador de Ícaro.
Já sentia o primeiro fôlego de calor sobre o rosto. A grande pedra contra a qual se apoiava o protegia dos raios diretos do Sol, mas o resplendor que refletiam as chamejantes rochas próximas o golpeava através do plástico transparente da cúpula. Esse resplendor cresceria rapidamente em intensidade à medida que o Sol subisse; tinha menos tempo do que tinha pensado e, ao sabê-lo, sentiu uma embotada resignação que estava mais à frente do medo. Esperaria até que o amanhecer o envolvesse e a unidade refrigeradora da cápsula se rendesse ante a desigual luta; então romperia a cápsula e deixaria que o ar saísse para ao vazio espacial.
Só podia permanecer sentado e pensar nos minutos que restavam, antes que a sombra se contraísse. Não tentou dirigir os pensamentos: deixou-os ir para onde quisessem. Que estranho morrer agora, tudo porque, lá na década de quarenta, anos antes que ele nascesse, um homem em Monte Pombal encontrou um raio de luz em uma placa fotográfica e o batizou, apropriadamente, como o moço que voou perto do Sol.
“Um dia”, pensou, “lhe construiriam um monumento nesta planície calcinada. O que poriam nele? Aqui morreu Colin Sherrard, engenheiro em astronáutica, pela causa da Ciência.” Isso seria engraçado, pois nunca tinha compreendido nem a metade das coisas que os cientistas queriam fazer.
Entretanto, parte da excitação desses descobrimentos lhe tinha chegado. Recordou como os geólogos tinham raspado a chamuscada pele do asteróide e, gentilmente, a superfície metálica debaixo. Essa superfície estava coberta de curiosas linhas e arranhões, como uma pintura abstrata dos decadentes posteriores a Picasso. Mas essas linhas tinham algum significado; nelas estava escrita a história de Ícaro, embora só um geólogo pudesse lê-la. Revelavam, assim haviam dito a Sherrard, que esse pedaço de ferro e rocha não tinha flutuado sempre sozinho no espaço. Em um passado remoto tinha sofrido uma enorme pressão e isso podia significar somente uma coisa: milhares de milhões de anos antes, tinha sido parte de um corpo muito maior, possivelmente de um planeta como a Terra. Por alguma razão, o planeta explodiu. Ícaro e milhares de asteróides mais, eram fragmentos dessa explosão cósmica.
Mesmo agora, enquanto se aproximava a linha incandescente de luz solar, emocionava-o esse pensamento. Sherrard estava sobre o núcleo de um mundo, um mundo que possivelmente tinha conhecido a vida. Em uma forma estranha, irracional, consolava-o saber que possivelmente não ia ser o seu o único fantasma que andaria por Ícaro até o fim dos tempos.
O casco estava empapando; isso anunciava que a unidade refrigeradora estava a ponto de falhar. Tinha trabalhado bem; até agora, embora as rochas a apenas uns poucos metros devessem estar vermelho vivo, o calor dentro da cápsula não era insuportável. Quando falhasse a refrigeração, tudo seria súbito e catastrófico.
Sherrard estendeu a mão para a alavanca vermelha que arrebataria a presa ao Sol; mas antes de movê-la olhou a Terra pela última vez. Baixou os filtros escuros com grande precaução, ajustando-os de modo que desviassem o resplendor das rochas, mas não o impedissem de ver o espaço.
As estrelas eram tênues agora, apagadas pelo crescente brilho da coroa. E, aparecendo apenas sobre a rocha, havia uma ponta de chama carmesim, um torcido dedo de fogo que sobressaía da borda do Sol. A Sherrard só restavam segundos.
Ali estava a Terra, ali estava a Lua. Adeus a ambas e aos amigos e seres queridos em cada uma delas. Enquanto olhava o céu, a luz solar tinha começado a lamber a base da cápsula, e sentiu a primeira pontada de fogo. Em um reflexo tão automático como inútil, afastou as pernas, tratando de escapar à onda de calor que avançava.
O que era isso? Um brilhante relâmpago de luz, imensamente mais luminoso que qualquer estrela, explodiu de repente lá em cima. A vários quilômetros de altura um gigantesco espelho navegava no céu, refletindo a luz solar, enquanto girava lentamente. Isso não podia ser; estava começando a sofrer alucinações; era hora de despedir-se. O suor lhe corria pelo corpo e em poucos segundos a cápsula seria um forno.
Não esperou mais; acionou o disparador de emergência com toda a força que lhe restava, preparando-se para enfrentar o fim.
Não aconteceu nada; a alavanca não se movia. Acionou-a uma e outra vez até que compreendeu que estava travada. Não havia fácil escapamento, não havia uma morte piedosa enquanto o ar fugia dos pulmões. Foi então, ao sentir o golpe do verdadeiro terror da situação, que seus nervos cederam e começou a gritar como um animal preso.
Quando ouviu a voz do Capitão McClellan que lhe falava fraco, mas claramente, pensou que era outra alucinação. Entretanto, algum resíduo que ficava de disciplina e autocontrole lhe reprimiu os gritos; apertou os dentes e atendeu a essa voz familiar e imperativa.
— Sherrard! Resista, homem! Havemos de localizá-lo, mas siga gritando!
— Aqui estou! — gritou Sherrard. — Mas apurem, pelo amor de Deus! Estou me queimando!
Nas profundidades que ficava de sua mente racional, compreendeu o que tinha acontecido. Alguma fraca sombra de sinal escapava das antenas rotas e os que o buscavam tinham ouvido seus gritos do mesmo modo que ele escutava suas vozes. Isso significava que deviam estar muito perto, e saber disso lhe deu novas forças.
Olhou através do fumegante plástico da cúpula, procurando uma vez mais aquele impossível espelho no céu. Ali estava outra vez; e agora entendeu que a desconcertante perspectiva do espaço lhe tinha enganado os sentidos. O espelho não estava a quilômetros de distância, nem era enorme. Estava quase em cima dele e se movia rapidamente.
Sherrard ainda estava gritando quando o espelho deslizou diante do sol nascente e sua bendita sombra caiu sobre ele como um vento fresco que soprasse do coração do inverno sobre quilômetros de neve e gelo. Agora que estava tão perto, reconheceu-o imediatamente. Era uma grande tela de folha metálica contra a radiação que sem dúvida tinham arrebatado apressadamente a um posto de instrumentos. Os amigos tinham estado buscando-o na segurança da sombra dessa tela.
Uma cápsula para trabalhos fortes, de dois lugares, sustentava lá em cima o cintilante escudo com um grupo de braços, e estendia outro para ele. Mesmo através da empanada cúpula e da onda de calor que ainda lhe debilitava os sentidos, reconheceu o rosto ansioso do capitão McClellan que o olhava da outra cápsula.
De modo que assim era o nascimento, pois realmente havia tornado a nascer. Estava muito exausto para agradecer, isso viria depois, mas ao afastar-se das rochas ardentes, seus olhos procuraram e encontraram a brilhante estrela da Terra.
—Aqui estou — disse silenciosamente. — De volta.
De volta a desfrutar e apreciar todas as belezas do mundo que tinha acreditado perdido para sempre. Não... não todas.
Nunca mais desfrutaria do verão.
Fora do Berço, para sempre em Órbita
Antes de começar, queria assinalar algo que muita gente parece ter esquecido. O século vinte e um não começa amanhã, e sim um ano depois, em 1° de janeiro de 2001. Embora o calendário marque 2000 desde a meia-noite, ao velho século ficam ainda doze meses. A cada cem anos os astrônomos devem voltar a explicá-lo. Entretanto, as celebrações começam logo que aparecem os zeros...
Assim vocês querem conhecer o momento mais memorável de meus cinqüenta anos de exploração espacial... Já entrevistaram o Von Braun? Como ele está? Magnífico. Não o vi desde que festejamos seu octogésimo aniversário com um banquete no Astrogrado, na última vez que desceu da Lua.
Sim, presenciei alguns dos momentos mais importantes na história dos vôos espaciais, começando pelo lançamento do primeiro satélite. Eu tinha então vinte e cinco anos e era um jovem matemático no Kapustin Yar. Não era tão importante para estar no centro de controle durante a contagem regressiva. Mas escutei a decolagem: foi o segundo som mais imponente que tenho ouvido em toda minha vida. (O primeiro? Já falarei disso logo.) Quando soubemos que estava em órbita, um veterano cientista pediu seu carro e fomos a Stalingrado para festejar. Como vocês sabem, só os grandes personagens tinham automóvel no Paraíso dos Trabalhadores. Percorremos a distância de cem quilômetros quase no mesmo tempo que levou o Sputnik para dar uma volta à Terra, e isso era ir muito rápido. Alguém calculou que a quantidade de vodca consumida no dia seguinte poderia ter impulsionado o satélite que os norte-americanos estavam construindo, mas acredito que exagerou.
A maioria dos livros de história diz que a Era Espacial começou então, em 4 de outubro de 1957; não vou discutir com eles, mas acredito que os momentos mais emocionantes vieram depois. Como acontecimento dramático é impossível superar a corrida da Marinha americana para pescar o Dimitri Kalinin do Atlântico Sul, antes que sua cápsula afundasse. Logo, aquele comentário de rádio do Jerry Wingate, com adjetivos que nenhuma cadeia teria se atrevido a censurar, enquanto dava voltas ao redor da Lua e se convertia no primeiro homem que viu o lado oculto. E, é obvio, só cinco anos depois, essa emissão televisiva da cabine do Hermann Oberth, quando aterrissou na Baía dos Arco-íris, onde ainda permanece, eterno monumento aos homens enterrados a seu lado.
Aqueles foram os grandes demarcadores no caminho ao espaço, mas estão equivocados se acreditarem que vou lhes falar deles; pois o que mais me emocionou foi algo muito, muito diferente. Nem sequer estou seguro de poder compartilhar a experiência e, se o obtenho, vocês não poderão fazer uma história a partir da mesma. Pelo menos não uma nova, já que esteve em todos os periódicos da época. Mas a maioria desses periódicos errou o enfoque completamente; para eles era bom material com interesse humano, e nada mais.
Aconteceu vinte anos depois do lançamento do Sputnik I e, já então, com muitas outras pessoas, eu estava na Lua... e era muito importante, ai!, para continuar sendo um verdadeiro cientista. Fazia doze anos que não programava um computador eletrônico; tinha então uma tarefa um pouco mais difícil: programar seres humanos, pois era Chefe Coordenador do Projeto Are, a primeira expedição tripulada a Marte.
Saíamos da Lua, é obvio, por causa da baixa gravidade; é umas cinquenta vezes mais fácil, em termos de combustível, se separar dali do que da Terra. Tínhamos pensado construir as naves em uma órbita de satélite, o que teria reduzido mais ainda a necessidade de combustível. Mas quando a estudamos, a idéia não era tão boa como tínhamos pensado. Não é fácil instalar fábricas e oficinas de máquinas no espaço; a ausência de gravidade é um problema em vez de uma vantagem, se a gente quiser que as coisas não se movam. Mas então (fim dos anos setenta), a Primeira Base Lunar estava bem organizada. Tinha um processado químico e realizava operações industriais de todo tipo em pequena escala, para produzir as coisas que a colônia necessitava. De modo que decidimos utilizar as instalações existentes, em lugar de exigir novas no espaço, com grandes dificuldades e gastos.
Alfa, Beta e Gamma, as três naves da expedição, estavam sendo construídas dentro dos muros da Platón, possivelmente a planície murada mais perfeita deste lado da Lua. Platón é uma planície tão grande que, se alguém se detiver no meio, não adivinhará nunca o que está no centro de uma cratera; o anel de montanhas se esconde mais à frente do horizonte. As cúpulas na pressão da base estavam a uns dez quilômetros da plataforma de lançamento, conectadas à mesma por meio dos funiculares adorados pelos turistas, mas que arruinaram a paisagem lunar.
A época dos pioneiros foi dura, pois carecíamos dos luxos atuais. A Cúpula Central, com seu parque e lagos, era ainda um sonho nas mesas de desenho dos arquitetos; e caso existisse, estaríamos muito ocupados para desfrutá-la, pois o Projeto Are devorava cada momento disponível. Ia ser o primeiro grande salto do Homem ao espaço; já então nós víamos a Lua como um simples subúrbio da Terra, um degrau no caminho a lugares que realmente importavam. Nossas crenças estavam claramente expressas na famosa frase do Tsiolkovsky, que eu tinha pendurado em meu escritório para que todos a vissem o entrar:
“A Terra é o berço da mente. Mas não se pode viver no berço para sempre.”
(Como? Não, claro que não conheci o Tsiolkovsky! Em 1936, quando ele morreu, eu tinha somente quatro anos.)
Assim, depois de meia vida de segredos, era bom poder trabalhar livremente com homens de todas as nações, em um projeto respaldado pelo mundo inteiro. De meus quatro assistentes um era norte-americano, um hindu, um chinês, e um russo. Freqüentemente nos felicitávamos por escapar à Segurança e aos piores excessos do nacionalismo, e embora existisse uma amável rivalidade entre os cientistas de diferentes países, isso estimulava o nosso trabalho. Às vezes eu me gabava frente à visitantes que recordavam as épocas más do passado: “Não há segredos na Lua.”
Bom, eu estava equivocado; havia um segredo, tinha-o diante do nariz, em meu próprio escritório. Se não tivesse estado tão absorto em todos os detalhes do Projeto Are, possivelmente teria suspeitado de algo. Refletindo depois, é obvio, vi todo tipo de pistas e indícios, mas naquele momento não me dava conta.
Notei vagamente, é certo, que Jim Hutchins, meu jovem assistente norte-americano, estava cada vez mais abstraído, como se algo o preocupasse. Uma ou duas vezes tive que chamar-lhe a atenção por enganos pequenos; sempre pareceu mortificado e prometeu que não voltaria a acontecer. Era um desses típicos moços honestos que os Estados Unidos produzem em grande quantidade; geralmente muito de confiança, mas não excepcionalmente brilhantes. Estava na Lua fazia três anos e foi dos primeiros em trazer sua mulher da Terra quando se levantou a proibição sobre pessoal não essencial. Nunca compreendi como obteve isso; deve ter tido algumas influencia, mas indubitavelmente era a última pessoa que se esperaria encontrar no centro de uma conspiração mundial. Disse mundial? Não, foi maior, já que se estendeu até a Terra. Dúzias de pessoas estiveram envolvidas, incluindo o alto mando da Autoridade Astronáutica. Ainda parece um milagre que tenham podido manter o segredo.
O lento amanhecer tinha começado fazia já dois dias, tempo da Terra, e embora as agudas sombras se cortassem, faltavam ainda cento e vinte horas para o meio-dia. Estávamos preparados para fazer as primeiras provas estáticas dos motores de Alfa, pois a planta de energia tinha sido instalada, e a armação da nave estava completa. Ali, na planície, parecia mais uma refinaria de petróleo meio construída do que uma espaçonave; mas nós a achávamos formosa, por sua promessa de futuro. Era um momento de tensão; nunca antes se pôs em funcionamento um motor termonuclear de tal tamanho e, apesar de todas as precauções de segurança, nunca se podia estar tranqüilo... Se algo saísse mal, poderia atrasar o Projeto Are por anos.
A contagem regressiva já tinha começado quando Hutchins, um pouco pálido, veio correndo.
— Devo me apresentar à Base imediatamente — disse-me. — É muito importante.
— Mais importante que isto? — repliquei sarcasticamente, pois estava extremamente aborrecido.
Vacilou um momento, como querendo me contar algo; logo respondeu:
— Parece-me que sim.
— Muito bem — disse, e ele se foi como um relâmpago.
Poderia tê-lo interrogado, mas a gente precisava ter confiança nos subordinados. Enquanto voltava para o tabuleiro de controle central, mal-humorado, decidi que já estava cansado do temperamental jovem norte-americano, e que pediria sua transferência. Era estranho: na prova se mostrou tão inteligente como os outros, e agora voltava precipitadamente para a Base no funicular. O cilindro do trem já estava a meio caminho da torre de suspensão mais próxima, deslizando pelos cabos quase invisíveis, movendo-se por cima da superfície lunar como um estranho pássaro.
Cinco minutos mais tarde meu humor era ainda pior. Um grupo vital de instrumentos de gravação se decompôs repentinamente, e teria que atrasar a prova pelo menos por três horas. Furioso, percorri o forte dizendo a todo aquele que queria me ouvir (e, é obvio, todos tinham que fazê-lo) que no Kapustin Yar fazíamos as coisas muito melhor. Tinha me acalmado um pouco e já estávamos na segunda rodada de café, quando os alto-falantes transmitiram o sinal de Atenção Geral. Só há um chamado de maior importância: o lamento dos alarmes de emergência, que ouvi duas vezes na Colônia Lunar, e espero não ouvir nunca mais.
A voz que ressoava em todos os espaços fechados da Lua e nas rádios de todos os que trabalhavam lá fora, nas silenciosas planícies, era a do General Moshe Stein, Presidente da Autoridade Astronáutica. (Naquela época ainda existiam muitos títulos de cortesia embora já não significassem nada.)
— Falo de Genebra — disse — e tenho que fazer um importante anúncio. Durante os últimos nove meses esteve em marcha um grande experimento. O mantivemos em segredo por causa das pessoas envolvidas e porque não queríamos provocar falsas esperanças ou medo. Não faz muito, como vocês recordarão, alguns peritos se negavam a acreditar que o homem pudesse sobreviver no espaço. Também desta vez houve pessimistas; duvidavam que pudéssemos levar a cabo o passo seguinte na conquista do Universo. Provamos seu engano, e agora queria lhes apresentar George Jonathan Hutchins, primeiro Cidadão do Espaço.
Ouviu-se um estalo quando a comunicação passou a outro circuito; logo houve uma pausa cheia de murmúrios e ruídos vagos. E então, em toda a Lua e metade da Terra, ouviu-se o som do qual prometi lhes falar: o som mais imponente que já escutei em minha vida.
Era o pranto de um bebê recém-nascido: o primeiro menino na história da Humanidade dado à luz fora da Terra. Olhamo-nos no forte subitamente silencioso e logo olhamos as naves que estávamos construindo lá fora, na brilhante planície lunar. Tinham parecido tão importantes uns poucos minutos atrás... Ainda o eram; mas não tão importantes como o que tinha acontecido no Centro Médico, e que voltaria a acontecer trilhões de vezes, em incontáveis mundos, durante todas as eras por vir.
Pois nesse momento, cavalheiros, soube que o homem realmente tinha conquistado o espaço.
Quem está aí?
Quando o Satélite de Controle me chamou, eu estava escrevendo o relatório dos progressos do dia na cúpula do Observatório, aquele escritório recoberto por uma bolha de cristal, situado no eixo da Estação Espacial, como o cubo de uma roda de carreta. Realmente não era um bom lugar para trabalhar; mas a visão que se tinha dali se apresentava assustadora e impressionante. A alguns poucos metros de distância podia ver as equipes de construção pondo em prática seus movimentos, que pareciam realizados em câmara lenta, em uma estranha espécie de balé cósmico, enquanto iam erguendo a Estação como se reunissem peças de um quebra-cabeças gigante. E além de tudo aquilo, a trinta mil quilômetros mais abaixo, o glorioso azul esverdeado da Terra cheia flutuava contra as miríades de estrelas da Via Láctea.
— Aqui é a Estação Supervisora — respondi. — Há alguma dificuldade?
— Nosso radar mostra um pequeno eco a três quilômetros de distância, aproximadamente a cinco graus ao oeste da estrela Sírio. Pode nos dar um relatório visual?
Algo que pudesse aproximar-se de nossa órbita com tanta precisão dificilmente podia ser um meteorito; devia ser alguma peça que tinha nos escapado no espaço, talvez uma peça sem ser apertada, que ficou à deriva. Ao menos eu pensei isso; mas quando lancei mão dos binóculos e rebusquei o céu em direção à constelação de Órion, logo descobri meu engano. Embora aquele viajante do espaço fosse feito pela mão do homem, não tinha absolutamente nada que ver conosco.
— Encontrei-o — respondi ao Controle. — Se trata de um satélite de provas em forma de cone, com quatro antenas e o que parece um sistema de lentes na base. Provavelmente foi lançado pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos no princípio dos anos sessenta, a julgar por seu desenho. Sei que perderam a pista de vários quando seus transmissores falharam. Tentaram várias vezes conseguir esta órbita, antes de obtê-la definitivamente.
Depois de uma breve busca nos arquivos, o Controle pôde, com efeito, confirmar minha hipótese. Levou algum tempo mais para saber que Washington não tinha o menor interesse em nosso descobrimento daquele satélite extraviado desde vinte anos, e ao que parecia, tudo indicava que ficariam contentes se o perdêssemos de novo.
— Bem, não podemos fazer isso — disse o Controle. — Embora ninguém o deseje, essa coisa é uma ameaça para a navegação. Alguém tem que sair e trazê-lo a bordo.
Esse alguém, compreendi, tinha que ser eu. Não me atrevia a afastar de seu trabalho a nenhum dos homens das equipes de construção, já que estávamos atrasados no programa de trabalho e cada dia de atraso no projeto custava um milhão de dólares. Todas as redes de televisão da Terra esperavam, impacientes, o momento em que pudessem canalizar seus programas através de nossa Estação Espacial e obter assim o primeiro serviço global estendido de Pólo a Pólo.
— Sairei eu mesmo para resgatá-lo — repliquei finalmente, enquanto punha uma tira elástica nos meus papéis, para evitar que as correntes de ar procedentes dos ventiladores os dispersassem no interior da cúpula.
Embora o dissesse em um tom que dava a entender que ia fazer-lhes um grande favor, o certo é que eu gostava daquele trabalho. Já fazia quase duas semanas desde que tinha saído ao exterior pela última vez e já estava cansado de fazer informe de manutenção, observações, cálculos, e de arquivar dados e todos aqueles outros ingredientes que fazem a vida tediosa no interior da cúpula de um Supervisor em uma Estação Espacial.
O único membro da tripulação a quem encontrei no caminho foi Tommy, nosso gato recém-adquirido. Um animal doméstico significa muito para os homens que se encontram a milhares de quilômetros da Terra; mas não há muitos destes animais que, como o gato, se adapte por si mesmos a um entorno de ausência de gravidade. Tommy miou suplicante quando comecei a me colocar em meu traje espacial; mas eu tinha muita pressa para me deter e brincar com ele.
Neste momento, possivelmente deva recordar a vocês que os trajes espaciais que utilizamos na Estação são completamente diferentes desses trajes flexíveis que o homem utiliza quando tem que andar pela superfície da Lua. Os nossos, na realidade, são umas diminutas naves espaciais, suficientemente pequenas para conter um só homem em seu interior. São uns cilindros rechonchudos de uns dois metros de comprimento, com foguetes de propulsão de baixa potência e um par de braços em forma de acordeão na parte superior, que coincidem com os do operador. Normalmente, entretanto, a gente mantém as mãos no interior e aciona os controles manuais de um pequeno painel de controle à altura do peito.
Assim que estive devidamente acondicionado no interior de meu aparelho pessoal, acionei a energia que o punha em marcha e conferi os calibradores do diminuto painel de controle. Existe uma palavra mágica, “CORB”, que com freqüência vocês ouvirão os homens do espaço mencionarem quando saltam à suas cápsulas, e que recorda sistematicamente a absoluta necessidade de comprovar o combustível, oxigênio, o rádio e as baterias. Todas as agulhas de meu painel de controle estavam situadas na zona de segurança, por isso baixei o transparente hemisfério sobre minha cabeça e me encerrei hermeticamente em seu interior. Para uma curta viagem como aquela, não tinha por que comprovar os compartimentos internos que correntemente se utilizavam para transportar mantimentos, material e equipe em missões de mais longa duração.
Enquanto a cinta transportadora me depositava na câmara de vácuo, senti-me como um menino índio levado nas costas de sua mãe, feito um fardo. Depois, as bombas atuaram devidamente, até baixar a pressão a zero; abriu-se a comporta exterior e os últimos vestígios de ar me jogaram para as estrelas, dando voltas ligeiramente sobre mim mesmo.
A Estação se achava só a uns poucos metros de distância, mas, em que pese tudo isso, eu era um planeta independente... um pequeno mundo formado por mim mesmo. Estava encerrado no interior de um cilindro diminuto e móvel, com a vista mais soberba que se possa conseguir do Universo, mas apenas dispunha virtualmente de alguma liberdade de movimentos no interior da cápsula. O assento acolchoado e o arnês de segurança me impediriam de dar voltas de um lado para outro, mas me permitiam alcançar os controles com ajuda de mãos e pés.
No espaço o grande inimigo é o Sol, que pode deixar a qualquer um cego em questão de segundos. Abri com muito cuidado os filtros escuros correspondentes à parte “noite” de minha cápsula e voltei a cabeça para olhar as estrelas. Ao mesmo tempo dispus em meu casco o dispositivo automático de ajuste de luz solar, de tal forma que, embora olhasse para qualquer direção, me achasse defendido daquele intolerável resplendor.
Pouco depois encontrei meu objetivo, um brilhante objeto prateado, cujo brilho metálico o fazia claramente diferente das estrelas que o rodeavam. Pressionei com o pé o controle de propulsão na direção conveniente e senti a suave aceleração produzida pelos foguetes de baixa potência que me afastavam da Estação. Depois de uns dez segundos de impulso, estimei que minha velocidade já fosse bastante grande e cortei a propulsão. Levaria uns cinco minutos para chegar até meu objetivo e não muito mais para voltar com ele naquela missão de salvamento.
E foi naquele instante em que me lançava ao abismo que me dei conta de que algo ia terrivelmente mal.
Nunca existe um completo silêncio no interior de um traje ou uma cápsula espacial; sempre se ouve o suave assobio do oxigênio, o fraco zumbir de ventiladores e motores, o sussurro da própria respiração e, inclusive, escutando com cuidado, os rítmicos batimentos do seu coração. Todos esses sons reverberam através da cápsula, incapazes de escapar ao vazio circundante; são em realidade o fundo, do qual não se parece dar-se conta, da vida no espaço, já que os notamos quando mudam.
E tinham mudado: a eles se uniu um som que não pude identificar. Era como um roçar intermitente e apagado, acompanhado às vezes por um ruído chiado, como se se tratasse da fricção de um metal contra outro.
Detive no ato até a minha própria respiração, tentando localizar auditivamente aquele estranho som. Os calibradores do painel de controle não me proporcionavam a menor pista; todas as agulhas se achavam firmes como uma rocha em suas diferentes escalas e não existia tampouco nenhum piscar de luzes vermelhas, que são as que automaticamente avisam do iminente desastre que possa vir em cima de você por qualquer circunstância imprevista. Bem, aquilo me proporcionou certa segurança, embora não muita. Já fazia tempo que tinha aprendido a confiar em meus instintos em tais questões; suas luzes de alarme piscaram agora, me dizendo que voltasse para a Estação antes que fosse muito tarde...
Mesmo agora, desgosta-me recordar aqueles minutos que se seguiram, quando o pânico se estendeu por minha mente como uma maré incontida, transbordando os diques da lógica e a razão que todo homem tem que erigir frente ao misterioso Universo. Soube então o que devia ser encarar a loucura; nenhuma outra explicação se encaixava com os fatos. Porque já se tornava impossível pretender que o ruído que ouvia correspondesse a qualquer mecanismo que não funcionava corretamente. Embora me achasse em uma total situação de isolamento e longe de qualquer ser humano e, até mesmo, de qualquer objeto material, na realidade não estava sozinho. Aquele vazio onde não existe som estava me levando ao ouvido esse leve, mas inequívoco conjunto de sensações que são a vida.
Naquele momento capaz de gelar o coração de qualquer um, tive a sensação de que algo tentava penetrar no interior de minha cápsula... algo invisível que tentava procurar refúgio do cruel e espantoso vazio do espaço. Girei como um louco no arnês de segurança, rebuscando febrilmente em todas as direções do espaço, exceto no cone proibido que projeta a destruidora luz do Sol. Não havia nada, é obvio. Não podia havê-lo, mas aquele arranhar misterioso e deliberado se fazia cada vez mais claro e evidente.
A despeito de tudo o que se escreve sobre nós e que considero absurdo, é falso que nós, os homens do espaço, sejamos supersticiosos. Mas pode reprovar-me o fato de que, tendo esgotado todos os raciocínios da lógica, recordasse repentinamente como tinha morrido Bernie Summers, à mesma distância da Estação que eu me encontrava nesse momento?
Foi um desses acidentes “impossíveis”; sempre o são. Três coisas tinham ido mal ao mesmo tempo: O regulador de oxigênio do Bernie se danificou e aumentou a pressão; a válvula de segurança tinha falhado em expulsar o ar excedente... e uma junta cedeu. Em uma fração de segundo, seu traje ficou aberto ao vazio.
Nunca cheguei a conhecer Bernie; mas, de repente, seu destino se converteu em algo assustador para mim... já que uma horrível ideia acabava de penetrar em minha mente. Não se fala sobre essas coisas; mas uma cápsula espacial é muito valiosa para se desprezada, mesmo que tenha matado o seu portador. Repara-se, volta a numerar-se... e se utiliza de novo como outra qualquer, em perfeitas condições.
O que ocorre com a alma de um homem que morre entre as estrelas, longe de seu mundo natal? Está aí ainda, Bernie, preso à última coisa que o liga a seu perdido e distante lar?
Enquanto lutava contra os pesadelos que me assaltavam em alguma parte, já que naquela hora parecia que os arranhões e os misteriosos ruídos provinham de todas as direções, apareceu uma última esperança a qual me aferrei com desespero. Pelo bem de minha saúde mental, tinha que provar que aquele não podia ser o traje espacial do Bernie, que aquelas paredes metálicas que me rodeavam tão de perto não tinham sido nunca o ataúde de outro homem.
Tive que fazer várias tentativas antes de poder pressionar o botão adequado e conectar a freqüência de emergência.
— Estação! — chamei ofegante. — Estou em graves dificuldades! Consigam imediatamente os registros relativos à minha cápsula Y...!
Nunca acabei de transmitir o que desejava; disseram-me depois que meu grito tinha quebrado o microfone. Mas... que homem, sozinho no completo isolamento de um equipamento espacial, não teria gritado quando algo lhe roçou brandamente a nuca?
Sem dúvida devo ter me lançado para diante em um movimento desesperado, preso ao arnês de segurança, indo dar com a cabeça na parte superior do painel de controle. Quando a equipe de salvamento me alcançou uns poucos minutos depois, ainda estava sem sentidos, com uma ampla ferida na frente.
E devido a isso, resultou que eu fui a última pessoa em toda a imensa Estação Espacial que se inteirou do que tinha acontecido. Quando voltei para a realidade, horas mais tarde, todos os médicos de bordo estavam reunidos junto à minha cama, mas passou um bom momento antes que os doutores se incomodassem em olhar para mim. Estavam muito mais interessados brincando com os três pequenos gatos que nosso mal chamado Tommy tinha tido a brincadeira de criar no tranqüilo esconderijo que representava o pequeno espaço superior traseiro de minha cápsula número cinco.
Ódio
Só Joey estava acordado sobre a coberta, na fresca quietude antes da alvorada, quando o meteoro cruzou o céu de Nova Guiné, envolto em chamas. Olhou como subia pelo firmamento até que passou diretamente por cima, seguindo as estrelas e arrojando sombras velozes sobre a abarrotada coberta. A luz áspera delineou os nus arranjos, as cordas enroladas cordas e os tubos de ar, os cascos de cobre para mergulhar, prontamente acomodados para a noite... até a ilha de pinheiros a meia milha de distância. Ao afastar-se para o sudoeste, sobre a vacuidade do Pacífico, começou a desintegrar-se. Estalou em glóbulos incandescentes que arderam, deixando um rastro de fogo através de um quarto de céu. Já se apagava quando desapareceu da vista, mas Joey não viu o fim.
Ardendo furiosamente, o meteoro afundou no horizonte, como se quisesse lançar-se contra a cara do sol já oculto.
Se a cena era espetacular, o silêncio, em troca, era enervante. Joey esperou e esperou e esperou, mas nenhum som chegou do céu. Quando, minutos mais tarde, escutou um súbito chapinho no mar, perto dele, teve um involuntário sobressalto. Logo se amaldiçoou por assustar-se de um peixe raia. (Um peixe enorme, sem embargo, para fazer tanto ruído quando saltava.) Não ouviu mais ruídos e logo voltou a dormir.
No estreito beliche, à popa do compressor de ar, Tibor não escutou nada. Dormia tão profundamente logo depois da jornada de trabalho que quase não ficavam energias para os sonhos; e quando os sonhos vinham não eram os que ele queria. Nas horas de escuridão sua mente dava voltas no passado e nunca descansava entre lembranças do desejo. Tinha mulheres no Sidney e Brisbane e Darwin e a Ilha Quinta-feira, mas em sonhos nenhuma. Tudo o que recordava ao despertar, na fétida quietude da cabine, eram o pó e o fogo e o sangue quando os tanques russos entraram em Budapest. Seus sonhos não eram de amor, eram somente de ódio.
Quando Nick o sacudiu para despertá-lo, estava se esquivando aos guardas da fronteira austríaca. Demorou alguns segundos para percorrer dezesseis mil quilômetros até a Grande Barreira de Recifes; logo bocejou, apartou a patadas as baratas que lhe roçavam os pés e desceu do beliche.
O café da manhã, é obvio, era o mesmo de sempre: arroz, ovos de tartaruga e carne enlatada, tudo baixado com chá forte e adocicado. A única virtude da cozinha de Joey era a abundância. Tibor estava acostumado à dieta monótona; quando retornava a terra se ressarcia dessa e de outras privações.
Logo o sol aparecia no horizonte quando já os pratos estavam empilhados no pequeno fogão e o lugre ficou em movimento. Nick parecia alegre quando tomou o leme e se afastaram da ilha; o velho pescador de pérolas tinha todo o direito a está-lo, pois a zona em que trabalhavam era a mais rica que Tibor já tinha visto. Com sorte encheriam a adega em um ou dois dias, e navegariam de retorno à Ilha Quinta-feira com meia tonelada de valvas a bordo. E logo, com um pouco mais de sorte, poderia abandonar esse pestilento e perigoso trabalho para voltar para a civilização. Não é que se lamentasse; o grego o tinha tratado bem, e havia encontrado algumas pedras boas ao abrir as valvas. Mas agora compreendia, logo depois de nove meses nos Recifes, por que o número de mergulhadores brancos podia contar-se com os dedos de uma mão. Os japoneses, os havaianos e os ilhéus, podiam suportá-lo; mas não os europeus.
O motor diesel tossiu, calou, e o Arafura se deteve. Estavam a umas duas milhas da ilha, que se estendia verde e chata sobre a água, embora bruscamente delimitada pela estreita franja de praia deslumbrante. Não constituía mais que uma anônima faixa rodeada de um bosquezinho, e seus únicos habitantes eram miríades de estúpidos pajarracos, que perfuravam o chão brando e enchiam a noite de espanto com seus ruídos agoureiros.
Falou-se pouco enquanto os três mergulhadores se vestiam; cada homem sabia o que tinha que fazer e não perdia tempo. Enquanto Tibor abotoava a grossa jaqueta de sarja, Branco, seu ajudante, lavou a placa de revestimento com vinagre, para que não se nublasse. Logo Tibor subiu à escada de corda, enquanto lhe colocavam a pesado escafandro e o corselete de chumbo sobre a cabeça. Além da jaqueta, que distribuía o peso em forma uniforme sobre seus ombros, levava as roupas de sempre. Nessas águas temperadas não eram necessários os trajes de borracha, e o escafandro atuava como um minúsculo sino de mergulhador, mantido em posição tão somente por seu peso. Em uma emergência, o portador podia (se tinha sorte) mergulhar-se fora da mesma e nadar de retorno para a superfície, sem estorvos. Tibor tinha visto como se fazia e não tinha desejo algum de levar a cabo o experimento.
Cada vez que chegava ao último degrau da escada, aferrando a bolsa de coleta com uma mão e a linha de segurança com a outra, o mesmo pensamento atravessava a mente de Tibor. Deixava o mundo que conhecia, mas era por uma hora ou era para sempre? Lá embaixo, no fundo do mar, estava a riqueza e a morte, e não se podia estar seguro de nenhuma. Era provável que este fosse outro dia fatigante e sem peripécias, como quase todos os dias na vida rotineira do mergulhador de pérolas. Mas Tibor viu morrer um de seus companheiros, quando o tubo de ar se enredou na escora do Arafura, e presenciou a agonia de outro cujo corpo se retorceu com cãibras. No mar, nada era jamais seguro ou certo. Aceitavam-se os riscos com olhos abertos; se se perdia, servia lamentar-se?
Separou-se da escada e o mundo de sol e céu deixou de existir. Desequilibrado pelo peso de seu escafandro, devia pedalar furiosamente para trás, para manter o corpo em posição vertical. Só via uma vaga bruma azul enquanto afundava-se e esperou que Branco não largasse muito rapidamente a linha de segurança. Tragando e soprando, tratou de clarear os ouvidos ao aumentar a pressão; o direito “estalou” logo, mas uma penetrante e intolerável dor cresceu rapidamente no esquerdo, que o tinha incomodado durante vários dias.
Trabalhosamente levou uma de suas mãos debaixo do casco, apertou o nariz e soprou com toda sua força. Houve uma súbita e silenciosa explosão em algum lugar dentro de sua cabeça e a dor desapareceu instantaneamente. Não teria mais problemas durante essa imersão.
Tibor sentiu o fundo antes de vê-lo. Como não podia inclinar-se, a menos que se arriscasse a alagar o casco aberto, sua visão para baixo era muito limitada. Podia olhar ao redor, mas não abaixo. O que viu era tranqüilizador em sua debulhada monotonia: uma planície lamacenta brandamente ondulada, que desaparecia da vista a uns três metros de distância. Um metro a sua esquerda, um peixe diminuto mordiscava uma parte de coral do tamanho e a forma de um leque de mulher. Isso era tudo; ali não havia beleza, nem país encantado submarino. Mas havia dinheiro, e isso era tudo o que importava.
A linha de segurança deu um suave puxão e o lugre começou a deslizar para baixo, movendo-se de flanco sobre o terreno. Tibor caminhou para frente, com o passo saltitante e lento ao que o obrigavam a falta de gravidade e a resistência da água.
Como mergulhador Número Dois, trabalhava da proa; no meio do navio estava Stephen, ainda comparativamente inexperiente, enquanto que na popa estava o mergulhador principal, Billy. Os três homens raras vezes se viam durante o trabalho; cada um tinha sua própria zona de busca, enquanto o Arafura deslizava silenciosamente frente ao vento. Só nos extremos de seus ziguezagues podiam alguma vez vislumbrar-se uns aos outros: formas imprecisas que apareciam na bruma.
Necessitava-se um olho treinado para distinguir as ostras sob sua camuflagem de algas e de ervas, mas freqüentemente os moluscos se traíam. Quando sentiam as vibrações do mergulhador que se aproximava, fechavam-se com um estalo, e havia um momentâneo e nacarino bato de asas na escuridão. Mas ainda assim escapavam algumas vezes, pois o navio, ao mover-se, arrastava ao mergulhador antes que este pudesse recolher o prêmio, que lhe escapava por centímetros. Nos primeiros dias de aprendizagem, Tibor perdeu vários dos grandes lábios chapeados e qualquer um deles podia conter alguma pérola fabulosa. Ou imaginou isso, antes que se desvanecesse o feitiço da profissão, e compreendesse que as pérolas eram tão estranhas que mais valia esquecê-las. A pedra mais valiosa que subiu foi vendida por cinqüenta e seis dólares e as ostras que juntava durante uma boa amanhã valiam muito mais que isso. Se a indústria dependesse das gemas e não das madrepérolas, teria quebrado anos atrás.
Não havia sentido do tempo nesse mundo brumoso. Caminhava-se sob o invisível casco de navio à deriva, com o batimento do coração do compressor de ar golpeando nos ouvidos, a névoa esverdeada movendo-se ante os olhos. A compridos intervalos encontrava-se uma ostra, a arrancava do fundo marinho e a guardava na bolsa. Com sorte podia-se juntar um par de dúzias em cada passagem.
Estava-se alerta ao perigo, mas não preocupado com ele. Os riscos reais eram coisas simples, nada espetaculares, como tubos de ar ou linhas de segurança enredadas; não o eram os tubarões, os meros, nem os polvos. Os tubarões corriam ao ver as borbulhas de ar e, em todas suas horas de mergulho, Tibor viu só um polvo. Quanto aos meros, bom, esses sim eram de inspirar cuidado, pois podiam tragar um mergulhador de um bocado, se estivessem famintos. Mas havia poucas probabilidades de encontrá-los nessa planície plana e desolada; não havia cavernas de coral como as que acostumavam habitar.
O susto não teria sido tão grande, portanto, se essa cinzenta uniformidade não o tivesse adormecido em um sentimento de tranqüilidade. Em certo momento se viu caminhando para uma inalcançável parede de névoa que retrocedia à medida que ele se aproximava. E então, sem aviso, seu pesadelo privado o envolveu.
Tibor odiava as aranhas, e havia uma criatura marinha que parecia engenhar deliberadamente para aproveitar-se dessa fobia. Nunca tinha encontrado uma e sua mente sempre afastou o pensamento de um encontro, mas Tibor sabia que o caranguejo marinho japonês pode abranger três metros de ponta a ponta entre suas largas patas. Que fosse inofensivo não importava absolutamente; uma aranha tão grande como um homem não tinha direito a existir.
Logo que viu surgir a caixa de finas patas articuladas, vinda do mundo cinzento que o rodeava, Tibor começou a gritar com terror incontrolável. Não recordava ter atirado da linha de segurança, mas Branco reagiu com a instantânea percepção do ajudante ideal. Com seus gritos ainda ressonando no escafandro, Tibor se sentiu arrebatado do fundo do mar, levantado para a luz e o ar... e a prudência. Ao subir, viu o absurdo de seu engano, e recuperou um pouco o domínio de si mesmo. Mas quando Branco lhe levantou o casco, ainda tremia tão violentamente que transcorreu algum tempo antes que pudesse falar.
— Que demônios se passa ali embaixo? — perguntou Nick. — Todo mundo abandona o trabalho cedo?
Então Tibor compreendeu que não foi o primeiro a subir. Stephen estava sentado no meio do navio, fumando um cigarro e com um aspecto de total indiferença. O mergulhador de popa, indubitavelmente sem saber que acontecia, estava sendo içado por seu ajudante, pois o Arafura se deteve e todas as operações foram suspensas até que se resolvesse o problema.
— Há algum tipo de naufrágio ali abaixo — disse Tibor. — Tropecei com ele. Tudo o que pude ver foi um montão de arames e varinhas.
Para sua irritação e desagrado, a lembrança o fez estremecer de novo.
— Não vejo por que isso deveria te fazer tremer — grunhiu Nick.
Tampouco o via Tibor; ali na coberta alagada de sol era impossível explicar como uma forma inofensiva vislumbrada através da bruma poderia aterrorizar a mente.
— Quase me enredei com ele — mentiu. — Branco me içou bem a tempo.
— Hum — disse Nick, obviamente não convencido. — De todo modo não é um navio. — Fez um gesto para o mergulhador do meio da nave. — Steve se encontrou com uma confusão de cordas e tecido, como nylon grosso, diz. Sonha como algum tipo de pára-quedas. — O velho grego olhou com desgosto o empapado resto de seu charuto e logo o atirou pela amurada. — Assim que Billy subir, baixaremos a ver. Pode valer algo; recorda o que aconteceu ao Jo Chambers.
Tibor recordou. A história era famosa ao longo de toda a Grande Barreira de Recifes. Jo era um pescador solitário que nos últimos meses da guerra encontrou um DC-3 em águas pouco profundas, a poucas milhas da costa de Queensland. Logo depois de prodígios de salvamento, sem ajuda, conseguiu romper a fuselagem, e começou a descarregar caixas de ferramentas e matrizes, perfeitamente protegidas por seus envoltórios engordurados. Durante um tempo esteve metido em um florescente negócio de importação, mas quando a polícia o apanhou, revelou de má vontade sua fonte de provisões. Os policiais australianos podem ser muito persuasivos.
E foi então, logo depois de semanas e semanas de exaustivo trabalho submarino, que Jo descobriu o que seu DC-3 tinha transportado. Além das ferramentas, que ele esteve vendendo por umas miseráveis centenas de dólares a garagens e oficinas, as grandes caixas que nunca chegou a abrir continham o pagamento de uma semana para as forças dos Estados Unidos no Pacífico. A maior parte em peças de ouro de vinte dólares.
Aqui não havia tanta sorte, pensou Tibor ao afundar novamente; mas o avião, ou o que fosse, podia conter instrumentos valiosos, e podia existir uma recompensa por seu descobrimento. Além disso, devia isso a si mesmo; queria ver exatamente que foi o que tanto o assustou.
Dez minutos mais tarde soube que não era um avião. Tinha outra forma, e era muito pequeno: só uns seis metros de comprimento e a metade de largura. Aqui e ali, no corpo brandamente cônico, havia escotilhas de acesso e diminutas frestas, através das quais instrumentos desconhecidos espiavam o mundo. Parecia intacto, embora um extremo tenha se fundido, provavelmente em conseqüência de um terrível calor. Do outro, brotava um matagal de antenas, todas quebradas ou dobradas pelo impacto com a água. Ainda agora tinham uma incrível semelhança com as patas de um inseto gigantesco.
Tibor não era tolo; imediatamente adivinhou o que era. Só ficava um problema, e resolveu com facilidade. Embora parcialmente chamuscadas pelo calor, ainda podiam ler-se algumas palavras marcadas nas escotilhas. As letras eram cirílicas e Tibor sabia suficiente russo para compreender referências a reposições elétricas e sistemas de pressurização.
— De modo que perderam um sputnik — disse com satisfação.
Podia imaginar o acontecido: a coisa descendo muito velozmente e no lugar equivocado. Ao redor de um extremo estavam os restos andrajosos das bolsas de flutuação; tinham estalado com o impacto e o veículo afundou como uma pedra. A tripulação do Arafura deveria desculpar-se com o Joey; não tinha estado tomando grog. O que tinha visto flamejando entre as estrelas tinha que ter sido o leva-foguetes, separado de sua carga e caindo desenfreadamente na atmosfera terrestre.
Durante longo tempo Tibor andou pelo fundo, escondido, os joelhos dobrados, enquanto olhava essa criatura espacial apanhada agora em um elemento estranho. Sua mente estava cheia de planos meio cristalizados. Já não lhe importava o dinheiro do salvamento; muito mais importante era o projeto de vingança. Aqui estava uma das mais arrogantes criações da tecnologia soviética. E Szabo Tibor, de Budapest, era o único homem no mundo que sabia.
Tinha que existir alguma forma de explorar a situação, de fazer mal ao país e à causa que agora odiava com tão furiosa intensidade. Nas horas de vigília raras vezes ficava consciente desse ódio, e menos ainda se detinha para analisar a causa real.
Aqui, neste solitário mundo de mar e céu, de fumegantes pântanos de mangues e deslumbrantes costas de coral, nada tinha que lhe recordasse o passado. Mesmo assim nunca podia escapar dele e algumas vezes os demônios da mente despertavam e o jogavam em uma destruitividade viciosa e desenfreada. Até agora fora afortunado; não tinha matado ninguém. Mas algum dia...
Um ansioso puxão de Branco lhe interrompeu os sonhos de vingança. Enviou um sinal tranquilizador ao ajudante, e começou um cuidadoso exame da cápsula. Quanto pesava? Poderia ser içada com facilidade? Havia muitas coisas por descobrir, antes de decidir-se por um plano definido.
Apoiou-se contra a parede metálica e empurrou cautelosamente. Houve um movimento e a cápsula se balançou no fundo marinho. Possivelmente pudesse ser içada até com os poucos arranjos do Arafura. Provavelmente era mais leve do que parecia.
Tibor apertou o casco contra uma parte plana daquela superfície metálica e escutou atentamente. Possivelmente esperava ouvir algum ruído mecânico, como o zumbido de motores elétricos. Entretanto, o silêncio era completo. Com o cabo da faca, golpeou vivamente o metal, tratando de calcular a espessura e localizar algum ponto débil. Na terceira tentativa obteve resultados; mas não foram os que tinha previsto.
Em uma furiosa e desesperada retreta, da cápsula saíram uns golpes em resposta.
Até o momento, Tibor nunca sonhara que pudesse haver alguém dentro; a cápsula parecia muito pequena. Então compreendeu que tinha estado pensando em términos de aviação convencional; aqui havia suficiente espaço para uma pequena cabine de pressão, na qual um devoto astronauta podia passar, apertado, umas poucas horas.
Como um caleidoscópio, que pode trocar completamente os desenhos em um instante, assim os planos meio formados na mente de Tibor se dissolveram e se cristalizaram logo em uma nova figura. Atrás do grosso vidro do casco ele passou a língua pelos lábios. Se Nick tivesse podido vê-lo nesse momento se teria perguntado, como o tinha feito antes, se seu mergulhador Número Dois estava totalmente calmo. Todos os pensamentos de uma vingança remota e impessoal contra um ponto tão abstrato como uma nação ou uma máquina tinham desaparecido; agora seria homem contra homem.
— Tomou seu tempo, não é assim? — disse Nick. — O que encontrou?
— É russo — disse Tibor. — Algum tipo de sputnik. Se pudéssemos lhe passar uma corda ao redor, acredito que conseguiríamos levantá-lo do fundo. Mas é muito pesado para içá-lo a bordo.
Nick mascou pensativo seu eterno charuto. O capitão estava preocupado por algo que Tibor não tinha pensado. Se se realizassem operações de salvamento por ali, todo mundo saberia onde esteve navegando o Arafura. Quando a notícia chegasse à Ilha Quinta-feira, sua zona privada de ostras seria limpa imediatamente.
Teriam que calar o assunto, ou transportar a maldita coisa eles mesmos e não dizer onde a tinham encontrado. Acontecesse o que acontecesse, parecia mais uma moléstia que outra coisa. Nick, que compartilhava a desconfiança de todos os australianos pela a autoridade, já tinha decidido que tudo o que obteria por seus trabalhos seria uma amável carta de agradecimento.
— Os moços não querem descer — disse. — Pensam que é uma bomba. Querem deixá-la.
— Diga-lhes que não se preocupem — replicou Tibor. — Eu me ocuparei dele.
Tratou que sua voz parecesse normal e sem emoção; isto era muito bom para ser certo. Se os outros mergulhadores escutassem o tamborilar na cápsula, seus planos fracassariam.
Fez um gesto para a ilha, verde e formosa no horizonte.
— Podemos fazer uma coisa. Se conseguirmos elevá-la meio metro do fundo, poderemos ir para a costa. Uma vez que estejamos em águas pouco profundas não será muito difícil transportá-la até a praia. Podemos utilizar os botes e atar polias e um suporte a uma daquelas árvores.
Nick considerou a idéia sem muito entusiasmo. Duvidava que pudessem levar o sputnik através dos recifes, até no lado a sotavento da ilha. Mas sim, estava a favor de puxá-lo para fora da zona de ostras; sempre poderiam jogá-lo em outra parte, assinalar o lugar e ainda obter reconhecimento por isso.
— Muito bem — disse. — Desce. Essa corda de cinco centímetros é a mais forte que temos; será melhor que a leve. Não fique todo o maldito dia; já que temos perdido muito tempo.
Tibor não tinha intenção de ficar todo o dia. Seis horas seriam mais que suficiente. Essa era uma das primeiras coisas que soube, graças aos sinais que escutou através da parede.
Era uma pena não escutar a voz do russo; mas o russo podia ouvi-lo e isso era o que realmente importava. Quando apoiava o casco contra o metal e gritava, quase todas suas palavras eram ouvidas. Até agora tinha sido uma conversação amistosa; Tibor não tinha intenção de mostrar a mão até o momento psicológico adequado.
O primeiro passo consistiu em estabelecer um código; um golpe para “sim”, dois para “não”. Logo, era questão de idealizar as perguntas apropriadas; com tempo, não existia feito ou idéia que não pudessem ser comunicados mediante estes dois sinais. Teria sido mais árduo se Tibor tivesse tido que utilizar seu russo incipiente; alegrou-se de saber que o piloto apanhado compreendia inglês à perfeição, embora isso não o surpreendesse.
Na cápsula havia ar para outras cinco horas; o ocupante não estava ferido; sim, os russos sabiam onde caiu a cápsula. Esta última resposta fez Tibor vacilar. Possivelmente o piloto mentia, mas podia ser verdade. Embora obviamente algo tivesse dado errado na volta à Terra, os navios rastreadores no Pacífico deviam ter localizado o ponto de impacto; com quanta exatidão? Isso não podia adivinhá-lo e não importava muito. Poderiam demorar dias em chegar ali, mesmo se fossem diretamente a águas territoriais australianas, sem preocupar-se de solicitar permissão à Camberra. Ele era o dono da situação; todo o poderio da URSS não poderia interferir com seus planos... até que fosse muito tarde.
A corda pesada corda caiu em arcos sobre o leito marinho, levantando uma nuvem de lama que se elevou como fumaça na lenta corrente. Agora que o sol estava mais alto no céu, o mundo submarino não se achava mais envolto em uma bruma cinza e crepuscular. O leito marinho era incolor, mas brilhante, e o campo de visão abrangia agora quase quatro metros. Pela primeira vez, Tibor pôde ver a cápsula espacial em sua totalidade. Era um objeto tão singular (tinha sido desenhado para condições que estavam além de toda experiência normal) que parecia burlar-se da vista. Em vão se buscava a parte dianteira ou traseira; era impossível adivinhar para onde apontava ao voar em sua órbita.
Tibor apoiou o casco contra o metal, e gritou:
— Estou aqui outra vez. Pode me ouvir?
Toc.
— Tenho uma corda e vou atar aos cabos do pára-quedas. Estamos a uns três quilômetros de uma ilha e assim que o tenhamos amarrado iremos para lá. Não podemos içar você com a equipe do lugre, de modo que trataremos de arrastá-lo fora da água na praia. Compreende?
Toc.
Em mais uns momentos a corda estava presa; agora convinha afastar-se antes que o Arafura começasse a levantar a cápsula. Mas primeiro devia fazer algo.
— Olá! — gritou. — Já amarei a corda. Levantaremos você em um minuto. Me ouve?
Toc.
— Então pode escutar isto também. Nunca chegará lá com vida. Também arrumei isso.
Toc, toc.
— Tem cinco horas para morrer. Meu irmão demorou mais, quando tropeçou com seu campo minado. Compreende? Sou de Budapest. Odeio a você e a seu país e a tudo o que significam. Apoderaram-se de meu lar, de minha família, escravizaram meu povo. Oxalá pudesse ver seu rosto agora; oxalá pudesse ver você morrer, como tive que ver o Theo. Quando estivermos na metade de caminho para a ilha, esta corda se romperá onde eu a cortei. Descerei e colocarei outra... que também se romperá. Pode sentar aí e esperar as porradas.
Tibor se calou de repente, agitado e exausto pela violenta emoção. Não existia lugar para a lógica ou razão nesse orgasmo de ódio; não se deteve para pensar, pois não se atrevia. Entretanto, das profundidades da mente, a verdade abriu passo para a luz da consciência.
Não eram os russos quem ele odiava, em que pese tudo o que fizeram. Era a si mesmo, pois ele fez mais. O sangue do Theo e de dez mil compatriotas lhe manchavam as mãos. Ninguém foi melhor comunista que ele, nem acreditou mais completamente na propaganda de Moscou. Na escola e no colégio foi o primeiro a perseguir e denunciar os “traidores”. (Quantos tinha enviado aos campos de trabalhos forçados ou às câmaras de tortura?) Quando viu a verdade era já muito tarde; e mesmo então não lutou: correu.
Correu através do mundo, tratando de fugir dessa culpa; e as duas drogas do perigo e da libertinagem o ajudaram a esquecer o passado. Os únicos prazeres que a vida lhe dava agora eram os abraços sem amor que tão febrilmente procurava quando estava em terra, e seu atual modo de existência provava que não bastava isso. Se agora tinha o poder de dispensar a morte era somente porque ele mesmo viera aqui procurá-la.
Da cápsula não saía som algum; o silêncio parecia depreciativo, zombador. Furioso, Tibor a golpeou com o cabo da faca.
— Ouviu-me? — gritou. — Me ouviu?
Não houve resposta.
— Maldito! Sei que me está escutando! Se não responder perfurarei a cápsula e deixarei entrar água!
Estava seguro de poder fazê-lo, com a afiada ponta da faca. Mas não queria; seria um fim muito rápido, muito fácil.
Seguia sem escutar resposta. Possivelmente o russo se deprimira. Tibor esperava que não, mas não havia razão para ficar ali quieto. Deu um último golpe maligno à cápsula e fez sinal ao seu ajudante.
Nick tinha notícias para ele quando chegou à superfície.
— A rádio de Ilha Quinta-feira esteve protestando — disse. — Os russos pedem a todo o mundo que procure um de seus foguetes. Dizem que deveria estar flutuando em alguma parte, sobre a costa do Queensland. Parece que estão muito interessados em recuperá-lo.
— Disseram alguma outra coisa sobre ele? — perguntou Tibor ansiosamente.
— Oh, sim... deu a volta à Lua um par de vezes.
— Isso é tudo?
— Nada mais que eu recorde. Havia muito jargão científico que não compreendi.
Era muito dos russos calar tudo o que podiam a respeito de um experimento que tinha fracassado.
— Avisou a Ilha Quinta-feira que a encontramos?
— Está louco? De todo modo, o rádio anda ruim; não poderíamos mesmo que quiséssemos. Ajustou bem essa corda?
— Sim; veja se pode levantá-la do fundo.
Tinham enrolado a ponta da corda ao redor do mastro principal e em poucos segundos ela ficou tensa. Embora o mar estivesse calmo, havia uma ligeira marejada e o lugre se inclinava dez ou quinze graus. Com cada bamboleio, as amuradas se elevavam meio metro e voltavam a cair. Havia força para elevar várias toneladas, mas era necessário tomar cuidado ao utilizá-la.
A corda vibrava, o madeiramento gemia e corria, e por um momento Tibor teve medo que a debilitada linha se rompesse muito cedo. Mas resistiu e levantaram a cápsula. Na segunda e terceira quebra de onda a elevaram ainda mais. A cápsula esteve então fora do leito marinho e o Arafura embicou ligeiramente para o porto.
— Vamos — disse Nick, tomando o leme. — Deveríamos poder arrastá-la meia milha antes que volte a se chocar com o fundo.
O lugre começou a navegar lentamente para a ilha, arrastando sua oculta carga.
Ao recostar-se nos corrimões, deixando que o sol secasse a umidade da empapada vestimenta, Tibor se sentiu em paz pela primeira vez em... quantos meses? Até mesmo seu ódio deixou de arder como um fogo em seu cérebro. Possivelmente, como o amor, era uma paixão que nunca podia satisfazer-se; mas no momento, ao menos, estava saciada.
Sua resolução não se debilitou; estava implacavelmente decidido a executar a vingança que tão estranhamente, tão milagrosamente, ficara ao seu alcance.
O sangue pedia sangue, e agora os fantasmas que o perseguiam podiam por fim descansar. Entretanto sentiu uma estranha compaixão, até mesmo piedade, pelo desconhecido graças ao qual agora podia devolver o golpe aos inimigos que uma vez foram seus amigos. Roubava-lhes muito mais que uma simples vida, pois o que era um homem, até um cientista altamente treinado, para os russos? O que lhes tirava era poder e prestígio e sabedoria, as coisas que valorizavam mais.
Começou a preocupar-se quando estavam a dois terços do caminho para a ilha e a corda ainda não se rompera. Ainda ficavam quatro horas e isso era muito tempo. Pela primeira vez lhe ocorreu que todo seu plano poderia deitar a perder e recair, inclusive, sobre sua cabeça. O que aconteceria se, apesar de tudo, Nick conseguisse levar a cápsula até a praia antes do prazo?
Com uma profunda vibração que comoveu toda a nave, a corda saiu se retorcendo da água, orvalhando espuma em todas as direções.
— Devia ter previsto — murmurou Nick. — Logo começara a rolar. Você gostaria de voltar a descer, ou mando algum dos moços?
— Eu desço — respondeu Tibor apressadamente. — Posso fazê-lo mais rapidamente que eles.
Isso era certo, mas demorou vinte minutos para localizar a cápsula. O Arafura tinha deslizado bastante longe antes que Nick conseguisse deter o motor e, por um momento, Tibor se perguntou se alguma vez voltaria a encontrá-la. Revisou o leito marinho descrevendo grandes arcos, e quando se enredou acidentalmente no pára-quedas finalizou sua busca. Os equipamentos do barco ondulavam como um estranho e horrível monstro marinho. Mas Tibor já nada temia, exceto o fracasso, e seu pulso apenas se acelerou ao ver a massa branca e reluzente.
A cápsula estava arranhada e coberta de lodo, mas parecia intacta. Agora descansava sobre um flanco, e fazia pensar em uma gigantesca manteigueira inclinada. Com certeza, o passageiro tinha recebido algum golpe; mas se havia passado da Lua, tinha que estar bem protegido, e provavelmente estivesse ainda em boas condições. Tibor assim o esperava; seria uma pena que se desperdiçassem as três horas seguintes.
Novamente apoiou o cobre esverdeado do casco contra o metal já não tão reluzente da cápsula.
— Olá! — gritou. — Pode me ouvir?
Possivelmente o russo trataria de contrariá-lo permanecendo silencioso, mas isso, certamente, era pedir muito do autocontrole de qualquer homem. Tibor tinha razão; quase imediatamente chegou o golpe agudo em resposta.
— Me alegro que esteja aí — respondeu. — As coisas estão saindo exatamente como eu disse, embora me pareça que terei que cortar a corda mais profundamente.
A cápsula não respondeu. Não voltou a responder, embora Tibor golpeasse e golpeasse e golpeasse na imersão seguinte... e na seguinte. Mas então já não o esperava, pois tiveram que parar um par de horas para enfrentar uma borrasca e o prazo expirou muito antes que efetuasse sua descida final. Estava algo incomodado com isso, pois tinha planejado uma mensagem de despedida. Gritou-a igual, embora soubesse que estava esbanjando o fôlego.
Cedo na tarde, o Arafura já estava muito perto da ilha. Só havia uns metros de profundidade, e a maré estava baixando. Com cada onda a cápsula ficava descoberta; estava firmemente encalhada em um banco de areia. Não havia esperanças de movê-la mais à frente; estava encalhada até que a maré alta a arrastasse.
Nick olhou a situação com olhos peritos.
— Esta noite haverá uma maré de dois metros — disse. — Pela forma em que jaz, deverá ficar só a meio metro de profundidade. Poderemos chegar a ela com os botes.
Esperaram fora do banco de areia, enquanto o sol e a maré baixavam e a rádio transmitia relatórios intermitentes de uma busca que se aproximava, mas ainda estava longínqua. Por volta do fim da tarde, a cápsula estava quase fora da água; a tripulação, a contragosto (uma sensação que Tibor compartilhava, com desgosto), dirigiu para ela o pequeno bote.
— Tem uma porta ao flanco — disse Nick subitamente. — Caramba!... acreditam que haja alguém lá dentro?
— Poderia ser — respondeu Tibor, com voz não tão firme como pensava.
Nick o olhou com curiosidade. O mergulhador agira de forma estranha durante todo o dia, mas não pensava lhe perguntar o que andava mal. Nessa parte do mundo, logo se aprendia a não meter-se nos assuntos dos outros.
O bote, balançando-se ligeiramente no mar picado, chegou ao lado da cápsula. Nick ergueu a mão e pegou a ponta de uma antena torcida. Logo, com agilidade felina, subiu à curva superfície metálica. Tibor não tentou segui-lo; observou silenciosamente do bote enquanto Nick examinava a escotilha.
— A menos que esteja travada — murmurou Nick. — deve existir alguma forma de abri-la de fora. Possivelmente terei que utilizar ferramentas especiais.
O temor do Nick não era justificado. A palavra “abrir” fora gravada em dez idiomas ao redor da fechadura funda e só foram necessários uns poucos segundos para deduzir seu funcionamento. O ar saiu vibrando e Nick disse “Oh” e empalideceu subitamente. Olhou para Tibor, como se procurasse ajuda, mas Tibor afastou o olhar. Então, a contragosto, Nick se meteu na cápsula.
Demorou um longo momento. De dentro chegaram primeiro uns golpes surdos, seguidos de uma fileira de palavras bilíngües. E logo um prolongado silêncio.
Quando a cabeça do Nick apareceu pela escotilha, seu rosto curtido e bronzeado estava cinza e sulcado de lágrimas. Tibor viu esse incrível espetáculo e teve um horrível pressentimento. Algo tinha saído muito mal, mas sua mente estava muito embotada para antecipar a verdade. Logo, quando Nick depositou sua carga, não maior que uma boneca, compreendeu.
Branco a pegou, enquanto Tibor retrocedia para a popa do bote. Quando olhou o tranquilo rosto de cera sentiu que uns dedos de gelo se fechavam não só ao redor do coração, mas também das costas. Nesse mesmo instante, ao conhecer o preço de sua vingança, nele morreram para sempre o ódio e o desejo.
A astronauta morta era possivelmente mais formosa na morte que na vida; embora pequena, devia ser forte e muito bem treinada para esta missão. Estendida aos pés de Tibor, não era nem russa nem o primeiro ser humano que viu a cara oculta da Lua; era simplesmente a menina que ele assassinara.
Nick estava falando, muito longe.
— Ela levava isto — disse, com voz insegura. — Tinha-a firmemente apertada na mão; demorei um longo momento para poder tirá-la.
Tibor apenas o escutou, mas nem olhou para diminuta fita gravada na palma de Nick.
Não podia adivinhar, nesse instante além de todo sentimento, que as Fúrias dariam ainda procuração de sua alma, e que o mundo inteiro escutaria uma acusadora voz de além-túmulo,
No Cometa
— Não sei por que gravo isto — disse lentamente George Takeo Pickett no microfone que flutuava diante dele. — Não é possível que alguém o escute alguma vez. Parece que o cometa não nos levará às cercanias da Terra, a não ser dentro de dois milhões de anos, em sua próxima volta ao redor do Sol. Me pergunto se a humanidade existirá ainda e se o cometa aparecerá a nossos descendentes com o mesmo esplendor que nos apareceu. Possivelmente organizarão uma expedição, como nós, para ver que podem encontrar. E nos encontrarão... Pois a nave estará ainda em perfeitas condições, até mesmo depois de tantos anos. Haverá combustível nos tanques e, possivelmente, ar também, pois, acima de tudo, nos faltará a comida. Mas não acredito que esperemos até morremos de fome. Será mais rápido abrir as eclusas e terminar assim de uma vez. Quando eu era menino, li um livro que contava uma exploração ao pólo e se chamava “Uma Invernada entre os Gelos”. Bem, assim estamos agora, rodeados de gelo, entre gigantescos timbales porosos. O Challenger flutua em meio de um cacho de timbales que giram uns ao redor de outros, mas tão lentamente que é necessário olhá-los vários minutos para notar que se movem. Mas nenhuma expedição aos pólos da Terra teve que se confrontar com um inverno parecido. Durante a maior parte da viagem de dois milhões de anos a temperatura será de quatrocentos e cinqüenta graus Fahrenheit abaixo de zero. Estaremos tão longe que o Sol não dará mais calor que as estrelas. E quem tentou esquentar as mãos à luz de Sírio em uma noite fria de inverno?
Esta imagem absurda, que lhe tinha ocorrido de repente, tirou-lhe o pouco ânimo que tinha. Não podia falar de campos de neve à luz da lua, de carrilhões de Natal que tocavam em um país a oitenta milhões de quilômetros. Ponho-me a chorar como um menino, destroçado pela lembrança das belezas familiares e desatendidas de uma Terra que tinha perdido para sempre.
E tudo tinha começado tão bem, em um clima de excitação e de aventura. Recordava agora (haviam passado só seis meses?) a primeira vez que tinha saído a olhar o cometa, pouco depois que o jovem Jimmy Randall, de dezoito anos, o descobrisse com seu telescópio caseiro e enviasse o famoso telegrama ao observatório de monte Stromlo. Naquele tempo, o cometa era só uma névoa débil que se movia pela constelação do Eridanus, um pouco ao sul do Equador. Tinha estado sempre muito longe, detrás de Marte, deslizando ao longo de uma órbita imensamente alongada. Quando tinha brilhado pela última vez nos céus da Terra, ainda não havia homens, e possivelmente não os haveria tampouco quando aparecesse de novo. A raça humana estava contemplando o cometa Randall pela primeira e possivelmente pela última vez.
Ao aproximar-se do Sol, o cometa cresceu, projetando jorros de vapor e de gás: o menor era maior que cem Terras. Como um gigantesco galhardete que ondeava em uma brisa cósmica, a cauda do cometa já tinha sessenta milhões de quilômetros de comprimento quando passou roçando a órbita de Marte. Nesse momento os astrônomos compreenderam que este seria o espetáculo celeste mais extraordinário de todos os tempos; muito superior ao da aparição do cometa Halley em 1986. E nesse mesmo momento os administradores da Década Astrofísica Internacional decidiram enviar uma nave de observação, o Challenger, arás do astro, pois esta era uma ocasião que não se apresentaria outra vez até o próximo milênio.
Durante semanas, nas horas que precediam à alvorada, o cometa se estendeu no céu como uma nova Via Láctea, mas muito mais brilhante. À medida que se aproximava do Sol, e sentia de novo os fogos que tinha conhecido pela primeira vez no tempo em que os mamutes sacudiam a Terra, manifestou uma crescente atividade. Umas gotas de gás luminoso brotaram do núcleo em grandes leques que giravam como lentos refletores no meio das estrelas. A cauda, agora de cento e cinqüenta milhões de quilômetros de comprimento, dividiu-se em cintas e listas entrecruzadas que mudavam completamente de forma no curso de uma noite. Afastavam-se sempre do Sol, como se arrastadas por um vento impetuoso que soprava mesmo do centro do Sistema Solar.
Quando lhe disseram que partiria no Challenger, George Pickett apenas se atreveu a acreditar em sua sorte. Nenhum jornalista tinha tido nunca uma oportunidade semelhante às dos tempos de William Lawrence e a bomba atômica. Tudo o tinha favorecido evidentemente: tinha estudado ciências, era solteiro, tinha boa saúde, pesava menos de sessenta quilogramas, haviam-lhe tirado o apêndice. Tinha havido outros, certamente, que tinham as mesmas qualificações. De qualquer modo, a inveja destes homens logo se transformaria em alívio.
Como a escassa capacidade de carga do Challenger não permitia transportar um simples jornalista, Pickett havia tido que atuar em suas horas de ócio como segundo a bordo. Isto significava, na prática, a obrigação de levar o caderno de anotações, servir de secretário ao capitão, fiscalizar o movimento dos armazéns. Era uma sorte, pensava freqüentemente, que no mundo sem peso do espaço bastassem três horas de sonho de cada vinte e quatro.
Para cumprir separadamente as duas tarefas precisava recorrer a todo o seu tato. Quando não estava escrevendo no escritório, do tamanho de um armário, ou examinando os milhares de artigos dos armazéns, ia de um lado a outro pela nave com o magnetófono sob o braço. Tinha tido a precaução de entrevistar, em um momento ou em outro, todos os homens de ciência que comandavam o Challenger. Nem todas as gravações tinham sido transmitidas à Terra. Algumas tinham sido muito técnicas, ou muito incoerentes, e outras muito ao contrário. Mas, pelo menos, nenhum deles podia acusá-lo de favoritismo e ninguém se havia queixado de ninguém. Embora agora todo isso importasse pouco.
Perguntou-se como seria a reação do doutor Martens. O astrônomo tinha sido um dos entrevistados mais difíceis, mas também o que tinha proporcionado maior informação. Obedecendo a um impulso repentino, procurou a primeira gravação de Martens e a colocou no aparelho. Sabia que tratava assim de escapar ao presente, refugiando-se no passado, mas este relâmpago de lucidez teve como único efeito fazê-lo esperar que a tentativa tivesse êxito.
Guardava ainda uma lembrança vívida daquela primeira entrevista, pois o microfone sem peso, que a corrente de ar dos ventiladores movia ligeiramente, tinha-o hipnotizado até o ponto de fazê-lo cair na incoerência. Ninguém o teria suspeitado, entretanto. A voz da gravação mostrava a mesma segurança profissional de costume.
Encontravam-se a trinta milhões de quilômetros atrás do cometa, mas seguiam aproximando-se, rapidamente, quando apanhou o doutor Martens no observatório e fez, à queima-roupa, a primeira pergunta.
— Doutor Martens, qual é a natureza exata do cometa Randall?
— Oh, algo bastante complexo — respondeu o astrônomo — e está mudando continuamente à medida que nos afastamos do Sol. Mas a cauda está composta principalmente por amônias, metano, bióxido de carbono, vapor de água, cianôgeno...
— Cianôgeno? Não é um gás venenoso? O que ocorreria se a cauda tocasse a Terra?
— Nada. Embora seja todo um espetáculo para os olhos humanos, a cauda de um cometa é principalmente vazio. Um volume do tamanho da Terra contém tão pouco gás como o que cabe em uma caixa de fósforos.
— E essa quantidade mínima é a causa de todo esse esplendor?
— Ocorre o mesmo com os gases estranhos dos anúncios elétricos. A cauda de um cometa brilha porque o Sol a bombardeia com partículas elétricas. É um anúncio celeste cósmico. Um dia, temo, o pessoal que trabalha em publicidade descobrirá o ardil e escreverá slogans no céu.
— Uma perspectiva deprimente, embora suponha que alguns falariam de um triunfo da ciência aplicada. Mas deixemos a cauda. Quando entraremos no coração do cometa, o que vocês chamam de núcleo?
— Alcançar algo que corre adiante sempre leva tempo. Passarão duas semanas antes que entremos no núcleo. Nos afundaremos primeiro mais e mais profundamente na cauda. Mas, embora o núcleo esteja ainda a trinta milhões de quilômetros de nós, já aprendemos bastante sobre ele. Acima de tudo, é extremadamente pequeno. Tem menos de oitenta quilômetros de diâmetro. E não é tampouco uma massa sólida, a não ser, provavelmente, um conjunto de milhares de corpos pequenos que se movem em uma nuvem.
— Conseguiremos penetrar no núcleo?
— Saberemos quando estivermos ali. Possivelmente seja melhor não correr riscos e estudá-lo com ajuda dos telescópios de uma distância de uns poucos milhares de quilômetros. Mas, pessoalmente, me sentirei decepcionado se não entrarmos no núcleo. Você não?
Pickett desligou o aparelho. Sim, Martens tinha tido razão. Teria sido decepcionante, sobretudo porque não tinham suspeitado de nada perigoso. Na verdade o perigo não tinha vindo do cometa, mas sim da nave.
Tinham navegado atravessando, uma atrás de outra, as amplas cortinas de gás, incrivelmente tênues, que o cometa emitia sempre, enquanto corria afastando do Sol. Não obstante, até agora, embora se aproximassem das regiões mais densas do núcleo, estavam realmente em um vazio quase perfeito. A névoa luminosa que havia rodeado o Challenger durante tantos milhões de quilômetros agora obscurecia as estrelas, mas adiante, onde flutuava o núcleo do cometa, havia uma mancha brilhante de luz difusa, que os atraía como um fogo fátuo.
As turbulências elétricas que quase se desencadeiam agora com uma violência cada vez maior haviam cortado as comunicações com a Terra. Fazia já alguns dias que se limitavam a enviar mensagens de “sem novidade” no Morse. Quando se separassem do cometa para regressar à Terra, as comunicações voltariam outra vez à normalidade, mas por agora estavam tão isolados como os exploradores terrestres nos dias anteriores ao rádio. Era um inconveniente, mas nada mais. Na realidade, Pickett sentia uma certa satisfação. Tinha agora mais tempo para dedicar-se a suas tarefas de segundo. Embora o Challenger navegasse no coração de um cometa, em uma viagem que nenhum capitão teria podido sonhar antes do século XX, era necessário ainda que alguém contasse as provisões e revisasse os armazéns.
Muito lenta e cuidadosamente, sondando com o radar todo o espaço ao redor, o Challenger se meteu no núcleo do cometa. E ali ficou... entre os gelos.
Whipple, do Harvard, já tinha suspeitado da verdade lá pelo ano 1940, mas era difícil acreditar, ainda agora, com a prova diante dos olhos. O núcleo relativamente pequeno do cometa era uma acumulação de tímbales, que flutuavam e giravam em órbitas entrecruzadas. Mas não eram de uma cor branca cegadora, nem estavam compostos de água como os timbales dos mares polares. Tinham uma cor cinza suja, e eram muito porosos, como neve fundida pela metade. E estavam providos de bolsas de metano e amônia gelada que estalavam ocasionalmente em gigantescos jorros de gás quando absorviam o calor do Sol. Era um espetáculo maravilhoso que Pickett tinha admirado apenas, por falta de tempo. Agora o tempo lhe sobrava.
Examinava como de costume as provisões do navio quando tropeçou com o desastre, embora demorasse para dar-se conta. Pois os mantimentos não tinham sido até então um problema, e tinham suficientemente para a viagem de volta. Tinha verificado as estoque com seus próprios olhos, e agora bastava confirmar as quantidades na seção do cérebro eletrônico do navio reservada a estes cálculos, do tamanho de uma cabeça de alfinete.
Quando brilharam na tela as primeiras cifras desatinadas, Pickett pensou que se equivocara ao apertar os botões. Apagou o resultado e colocou outra vez no computador o cartão de informação.
60 caixas de carne em conserva embarcadas. 17 consumidas. Restam: 99999943.
Tentou outra vez e outra, sem melhor resultado. Logo, um pouco incomodado, mas não alarmado, foi em busca do doutor Martens.
Encontrou o astrônomo na Câmara de Torturas, o ginásio minúsculo que os desenhistas tinham metido entre o depósito de ferramentas e o tanque principal de combustível. Todos os membros da tripulação tinham que fazer exercícios ali, uma hora por dia, para evitar que os músculos perdessem elasticidade nesse meio sem peso. Martens lutava com um poderoso sistema de molas, apertando torvamente os dentes. Seu rosto se escureceu ainda mais quando ouviu o relatório de Pickett.
Bastaram algumas provas no tabuleiro principal.
— O computador enlouqueceu — disse Martens. — Nem sequer é capaz de somar ou subtrair.
— Mas podemos arrumá-lo!
Martens meneou a cabeça. Tinha perdido todo seu ar de tremenda segurança. Parecia agora, disse-se Pickett, um boneco de borracha que começava a perder ar.
— Nem sequer os construtores seriam capazes. É uma massa sólida de microcircuitos tão apertados como as células de um cérebro humano. As unidades da memória operam ainda, mas a calculadora não serve para nada. Não calcula, mescla os números.
— E o que significa isso para nós?
— A morte — respondeu Martens, secamente. Sem o computador estamos perdidos. É impossível calcular uma órbita que nos leve de volta à Terra. Um exército de matemáticos demoraria semanas.
— É ridículo! A nave está em perfeitas condições, temos comida e combustível, e você diz que morreremos apenas porque não podemos fazer umas poucas somas.
— Umas poucas somas! — replicou Martens com algo de seu velho espírito. — Uma mudança importante de trajetória, como a que necessitamos para nos afastar do cometa e nos situar em uma órbita que nos leve para casa implica uma centena de milhares de cálculos. O computador mesmo necessita de vários minutos para levar a cabo essa tarefa.
Pickett não era um matemático, mas sabia bastante de astronáutica para entender a situação. Uma nave que navegava pelo espaço estava submetida à influência de muitos corpos celestes. A força principal era a gravidade do Sol, que mantinha todos os planetas firmemente encadeados a suas órbitas. Mas os planetas mesmos vacilavam para aqui e para lá, embora com uma força muito mais débil. Ter em conta todas essas atrações contraditórias e, sobretudo, aproveitá-las para alcançar no momento justo uma meta prevista a milhões de quilômetros de distância, era um problema de fantástica complexidade. Entendia o desespero de Martens. Nenhum homem pode trabalhar sem as ferramentas próprias de seu ofício, e não havia nenhum ofício que necessitasse ferramentas mais complexas.
Após o anúncio do capitão e da primeira conferência de emergência em que todos os tripulantes discutiram a situação, passaram horas antes que os fatos cobrassem toda sua realidade. Estavam sentenciados a morte, mas tinham ainda muitos meses por diante. E o espetáculo era ainda esplêndido...
Além das névoas luminosas que envolviam a nave, e que seriam um panteão celeste até o fim dos tempos, podia ver-se o grande farol que era Júpiter, mais brilhante que todas as estrelas. Alguns destes homens estariam possivelmente com vida, se os outros estivessem dispostos a sacrificar-se a si mesmos, quando a nave deixasse atrás o maior dos filhos do Sol. Valeria a pena viver algumas semanas a mais, perguntava-se Pickett, para observar a simples visão daquilo que Galileu tinha observado com seu telescópio primitivo fazia quatro séculos: os satélites do Júpiter que avançavam e retrocediam como bolinhas, deslizando ao longo de um fio invisível.
Bolinhas em um fio. Uma esquecida lembrança da infância explodiu no subconsciente de Pickett. Devia estar lutando há muitos dias para sair à luz.
— Não! — exclamou. — É ridículo. Rirão de mim!
Mas o que importa isso na verdade? Não havia nada a perder. Pelo menos manteria a todos ocupados, enquanto acabavam a comida e o oxigênio. Alguma esperança, mesmo muito fraca, era melhor que nenhuma...
Deixou de brincar com os botões do aparelho gravador. O humor melancólico tinha ficado para trás. Livrou-se da rede elástica que o retinha no seu assento e se encaminhou ao depósito de ferramentas onde encontraria o material necessário.
— Se isto for uma brincadeira, não me parece engraçada — disse o doutor Martens três dias mais tarde, olhando desdenhosamente a frágil estrutura de madeira e arame que Pickett tinha na mão.
— Já sabia que você reagiria assim — replicou Pickett dominando-se. — Mas, por favor, me escute um minuto. Minha avó era japonesa e faz muitos anos me contou uma história que eu esqueci completamente até esta semana. Acredito que pode nos salvar a vida. Pouco tempo depois da segunda guerra mundial houve um torneio entre um norte-americano com uma calculadora elétrica de mesa e um japonês com um ábaco como este. Ganhou o ábaco.
— A calculadora deveria ter sido bastante primitiva, ou o operador muito incompetente.
— Empregaram a melhor máquina do exército norteamericano. Mas não discutamos mais. Façamos um teste. Uma multiplicação, por exemplo. Dê-me um par de números de três cifras.
— Este... 856 por 437.
Os dedos do Pickett dançaram sobre as contas, deslizando para cima e para baixo pelos arames com assombrosa velocidade. Havia doze arames no total, de modo que o ábaco podia operar com números altos, até 999.999.999.999, ou podia ser dividido em seções separadas quando era necessário tirar vários cálculos de uma vez.
— 374.072 — disse Pickett ao cabo de um tempo incrivelmente curto. — Agora vejamos quanto tempo você demora com papel e lápis.
Passou um tempo muito mais longo antes que Martens, ruim em aritmética como quase todos os matemáticos, anunciasse:
— 375.072.
Uma verificação rápida confirmou que Martens tinha demorado pelo menos três vezes mais que Pickett e tinha obtido um resultado errôneo.
O rosto do astrônomo era todo um estudo de distintas expressões: decepção, assombro, curiosidade.
— Onde aprendeu esse truque? — perguntou. — Eu pensava que estes aparelhos só podiam somar e subtrair.
— Bom... uma multiplicação é só uma soma repetida, não é certo? Tudo o que fiz foi somar 856 e sete vezes na coluna das unidades, três vezes na coluna das dezenas, e quatro vezes na coluna das centenas. É o mesmo quando você utiliza lápis e papel. É obvio, há procedimentos para abreviar as operações, mas se você acredita que eu sou rápido, teria que ter visto meu tio-avô. Trabalhava em um banco da Yokohama e às vezes a gente quase não podia ver os seus dedos. Ensinou-me alguns truques, mas passaram vinte anos e eu os esqueci. E agora pratiquei só um par de dias, de modo que ainda sou lento. De qualquer modo você viu que minha idéia não é desatinada.
— Sim, realmente, estou muito surpreso. É possível dividir com a mesma rapidez?
— Sim, virtualmente, quando o operador tem bastante experiência.
Martens tomou o ábaco e moveu as contas para frente e para trás. Então suspirou.
— Engenhoso, mas não nos servirá de nada. Embora seja dez vezes mais rápido que um homem com lápis e papel, e isto já é bastante, a velocidade da calculadora era um milhão de vezes superior.
— Pensei nisso — replicou Pickett, um pouco impaciente.
Martens, pensou, era um debilóide. Dava-se por vencido em seguida. Como acreditava que as haviam acertado os astrônomos cem anos antes, quando não havia computadores?
— Eis aqui minha proposta — continuou em voz alta. — Me diga se você encontrar alguma falha em meu plano...
Expôs o plano com ardor e precisão. A cara do Martens foi se distendendo e, por fim, explodiu em uma gargalhada, a primeira que se ouvia desde muitos dias a bordo do Challenger.
— Quero ver a cara do capitão — disse o astrônomo — quando você lhe anunciar que voltaremos todos para o quarto dos meninos a brincar com bolinhas.
O ceticismo inicial se apagou logo que Pickett fez algumas demonstrações. Para homens que tinham crescido no mundo da eletrônica, o fato que uma simples estrutura de arame e contas pudesse realizar esses aparentes milagres era toda uma revelação. Era também um desafio e, como estavam em jogo as vidas de todos, responderam com entusiasmo.
Logo que a equipe de engenheiros construiu umas cópias melhoradas do tosco protótipo do Pickett, começaram as aulas. Bastaram uns minutos para explicar os princípios básicos. A prática, em troca, requeria tempo: horas e horas de exercícios, até que os dedos voaram automaticamente pelos arames, movendo as contas para as posições adequadas, sem intervenção do pensamento consciente. Houve alguns membros da tripulação que não conseguiram adquirir nem rapidez, nem precisão, mesmo depois de toda uma semana de exercícios. Mas outros deixaram atrás muito em breve até mesmo Pickett.
Sonhavam com colunas de cifras e manipulavam o ábaco enquanto dormiam. Logo que superaram a primeira etapa foram divididos em equipes que competiam ferozmente uns com outros para alcançar um maior coeficiente de habilidade. Ao fim houve homens a bordo do Challenger capazes de multiplicar dois números de quatro cifras em quinze segundos e seguir assim durante horas.
Era um trabalho mecânico: requeria habilidade, mas não inteligência. A única tarefa realmente difícil era a de Martens, e ninguém podia ajudá-lo. Martens tinha que esquecer todas as técnicas apoiadas em máquinas às quais estava habituado e reordenar os cálculos de modo que uma equipe de homens, que ignoravam o significado daquelas cifras, pudesse trabalhar com eles automaticamente. Tinha que lhes proporcionar os dados básicos e eles levavam adiante o programa previsto. Ao cabo de umas poucas horas de paciente trabalho rotineiro, o resultado emergia no extremo de uma cadeia de produção matemática... se não se cometesse nenhum engano. Para evitar este perigo, duas equipes trabalhavam independentemente, confrontando de quando em quando os resultados.
— Inventamos um computador que emprega cabeças humanas em vez de circuitos eletrônicos — disse Pickett no microfone do gravador, quando teve tempo de pensar em possíveis ouvintes. — É uns poucos milhares de vezes mais lenta, não pode atingir muitos dígitos, e se cansa com facilidade, mas está fazendo o trabalho. Não o de estabelecer toda uma trajetória até a Terra; isso seria muito complicado. Basta que encontremos uma órbita que nos leve a uma zona acessível às ondas de rádio. Uma vez que escapemos às interferências elétricas do redor, poderemos transmitir por rádio nossa posição e os grandes cérebros eletrônicos da Terra nos dirão o que devemos fazer. Já deixamos o núcleo do cometa e não nos afastamos mais do Sistema Solar. Nossa nova órbita coincide com os cálculos prévios dentro dos limites previsíveis. Encontramo-nos dentro da cauda do cometa, mas o núcleo está agora a vários milhões de quilômetros de distância e já não vemos esses timbales de amônia. Afastam-se rapidamente para as estrelas fundindo-se na noite gelada, entre os sóis, enquanto nós retornamos...
— Olá, Terra. Olá, Terra. Aqui o Challenger. Respondan quando ouvirem nossos sinais. É necessário que vocês encarreguem de nossos exercícios de aritmética... antes que nos esfolem os dedos.
Uma Mona na Casa
A avozinha pensou que minha idéia era horrível; claro que ela ainda podia recordar os dias em que os serventes eram humanos.
— Se pensa que compartilharei a casa com uma Mona, está muito equivocada — bufou.
— Não seja tão antiquada — respondi. — De todo o modo, Dorcas não é uma Mona.
— Então, o que é...?
Percorri as páginas do manual da Corporação de Engenharia Biológica.
— Escuta isso, avó: “O Superchimp (Marca registrada) Sapiens é um antropóide inteligente, obtido a partir do chimpanzé mediante uma reprodução seletiva e modificações genéticas.”
— Justo o que falei! Uma Mona!
— “... e com um vocabulário suficientemente amplo para compreender ordens simples. O pode ser treinado para fazer todo tipo de tarefas domésticas ou trabalhos rotineiros e é dócil, afetuoso, domesticado e especialmente bom com os meninos...”
— Meninos! Confiaria o Johnnie e a Susan a um... gorila?
Suspirando, deixei o manual.
— Tem razão. Dorcas é cara, e se encontro os pequenos monstros golpeando-a...
Felizmente, nesse instante soou a campainha.
— Assine, por favor — disse o mensageiro.
Assinei e Dorcas entrou em nossas vidas.
— Olá, Dorcas — disse. — Espero que seja feliz aqui.
Sob as sobrancelhas proeminentes, apareceram dois grandes olhos melancólicos. Embora tivesse um corpo ridículo, conheci seres humanos mais feios. Media ao redor de um metro e vinte de altura, e quase tanto de largura. Em seu uniforme simples, parecia uma donzela daqueles primeiros filmes do século XX. Seus pés, não obstante, estavam descalços, e cobriam uma enorme superfície.
— Dia, senhora — respondeu balbuciando, embora de forma perfeitamente inteligível.
— Pode falar! — grasnou a avozinha.
— É obvio — respondi. — Pode pronunciar mais de cinqüenta palavras e compreender duzentas. Aprenderá mais à medida que se habitue a nós, mas no momento devemos ater-nos ao vocabulário das páginas quarenta e dois e quarenta e três do manual.
Entreguei o manual de instruções à avó; desta vez ela não conseguiu encontrar uma só palavra para expressar seus sentimentos.
Dorcas se adaptou rapidamente. Seu treinamento básico, Doméstica Classe A, mais os afazeres de Babá, era excelente, e no final do primeiro mês, eram poucas as tarefas domésticas que não podia fazer, desde pôr a mesa até vestir os meninos. No princípio tinha o fastidioso hábito de levantar as coisas com os pés; parecia-lhe tão natural como utilizar as mãos, e levou muito tempo acostumá-la. Finalmente, uma bituca da avozinha resolveu o problema.
Dorcas era afável, conscienciosa, e não resmungava. É obvio, não era muito inteligente, e alguns trabalhos deviam ser explicados extensamente para que os compreendesse. Levou-me várias semanas descobrir suas limitações e as permitir; no princípio era muito difícil recordar que não era exatamente humana e que era inútil tentar de atraí-la ao tipo de conversa que tanto agrada às mulheres. Certamente lhe interessava a roupa e a fascinavam as cores. Se eu lhe tivesse permitido vestir-se da forma que ela queria, teria parecido fantasiada para o carnaval.
Para meu alívio, os meninos a adoravam. Sei o que as pessoas dizem sobre Johnnie e Sue, e admito que tenham um pouco de razão. É tão difícil educar meninos quando o pai está longe na maior parte do tempo... E para piorar as coisas, a avozinha os mima quando não estou olhando. O mesmo faz Eric, quando sua nave está na Terra, e depois me toca fazer frente aos chiliques. Nunca se case com um astronauta se lhe for possível evitá-lo; o pagamento pode ser bom, mas o feitiço logo se desvanece.
Quando Eric voltou da viagem a Vênus, com três semanas de licença acumuladas, nossa nova criada era já parte da família. Eric se acostumou a ela; depois de tudo, tinha encontrado criaturas muito mais estranhas nos planetas. Resmungou pelo gasto, claro. Mas eu o fiz notar que, agora que me via aliviada de grande parte dos afazeres domésticos, poderíamos passar mais tempo juntos e fazer as visitas que nos tinham sido impossíveis no passado. Agora que Dorcas podia cuidar dos meninos, eu esperava ter outra vez um pouco de vida social.
Pois a vida social de Porto Goddard era intensa, embora estivéssemos isolados no meio do Pacífico. (Desde o que aconteceu a Miami, todos os lugares importantes de lançamento ficavam muito, muito afastados de toda civilização.) Havia uma contínua corrente de visitantes distintos e viajantes de todas as partes da Terra, sem mencionar outros pontos mais remotos.
Cada comunidade tem seu árbitro da moda e cultura, sua grande mestra, odiada e, entretanto, copiada por todas as suas desafortunadas rivais. Christine Seanson o era em Porto Goddard; seu marido era comodoro do Serviço Espacial e ela nunca nos deixava esquecê-lo. Sempre que aterrissava uma nave, convidava todos os funcionários da Base para uma recepção em sua elegante mansão do século dezenove. Era aconselhável ir, a menos que a desculpa fosse muito boa, mesmo que isso significasse ter que olhar os quadros. Christine tinha o capricho de se acreditar uma artista, e das paredes se penduravam fantoches multicoloridos. Falar longamente sobre os mesmos constituía um dos maiores riscos de suas festas; outro era sua boquilha de um metro de comprimento.
Desde a última partida do Eric, tinha produzido um novo turno de pinturas; Christine tinha entrado em seu período “quadrado”.
—Como vocês vêem, meus queridos — nos explicou — os velhos quadros oblongos são terrivelmente antiquados, simplesmente não combinam com a Era Espacial. Lá não existem os conceitos de acima e abaixo, horizontal e vertical, de modo que nenhuma pintura moderna deveria ter um lado mais comprido que outro. Idealmente, uma pintura deveria ter o mesmo aspecto fosse qual fosse a forma em que estivesse pendurada. Nisso estou trabalhando agora.
— Parece muito lógico — disse Eric diplomaticamente (depois de tudo, o comodoro era seu chefe). Mas quando nossa anfitriã esteve longe, adicionou: — Não sei se seus quadros estão pendurados com o lado superior para cima, mas sim estou seguro que teriam que estar de cara contra a parede.
Eu estava de acordo; antes de me casar passei vários anos na Escola de Belas Artes, e sabia algo a respeito. No lugar do Christine, eu poderia ter sido todo um êxito com minhas telas, que agora se enchiam de pó na garagem.
— Sabe, Eric — eu disse, algo maliciosamente — eu poderia ensinar Dorcas a pintar melhor que isto.
Eric riu e disse:
— Pode ser divertido tentá-lo algum dia, se perdermos Christine de vista.
Logo esqueci tudo. Até um mês depois, quando Eric estava outra vez no espaço.
A origem exata da briga não tem importância; surgiu por causa de um projeto para o desenvolvimento da comunidade. Christine e eu tivemos pontos de vista opostos. Ela ganhou, como de costume, e eu saí jogando fogo. Ao chegar em casa, a primeira que vi foi Dorcas, olhando as fotografias em cores de um dos semanários, e recordei as palavras do Eric.
Larguei a bolsa, tirei o chapéu, e falei com firmeza:
— Dorcas, venha até a garagem.
Levou algum tempo para extrair as pinturas e o cavalete, enterrados sob brinquedos deixados de lado, velhos adornos natalinos, equipamentos de mergulho, caixas vazias de embalagem e ferramentas rotas (parecia que Eric nunca tinha tempo para arrumar as coisas antes de lançar-se novamente ao espaço). Sepultados sob os refugos, havia várias telas inconclusas, que serviriam para começar. Coloquei sobre o cavalete uma paisagem que não tinha avançado além de uma árvore esquelética, e falei:
— Bom, Dorcas... vou ensinar você a pintar.
Meu plano era simples, e não de todo honesto. Embora alguns macacos tivessem salpicado tinta sobre tecidos no passado, nenhum deles tinha criado uma obra de arte genuína e corretamente composta. Eu estava segura que Dorcas tampouco era capaz, mas ninguém precisaria saber que minha era a mão diretriz. Ela podia ficar todo o mérito.
Entretanto, não pensava mentir. Embora eu fizesse o desenho, mesclasse os pigmentos e executasse a maior parte, deixaria que ela fizesse todo o trabalho que fosse possível, e desenvolveria possivelmente um estilo durante esse processo, uma pincelada característica. Calculei que, com um pouco de sorte, Dorcas seria capaz de fazer, possivelmente, uma quarta parte do trabalho total. Então eu poderia sustentar que ela tinha feito tudo, com a consciência razoavelmente limpa. Acaso Miguel Ângelo e Leonardo não tinham assinado pinturas que em sua maior parte tinham sido produzidas por seus assistentes? Eu seria o “assistente” de Dorcas.
Devo confessar que me senti um pouco desiludida. Embora Dorcas logo compreendesse o uso do pincel e da paleta, seu trabalho era bastante torpe. Parecia incapaz de decidir qual mão utilizar e não deixava de passar o pincel de uma mão à outra. Finalmente tive que fazer a maior parte do trabalho e ela contribuiu apenas com umas poucas pinceladas.
Não obstante, não podia esperar que se convertesse em uma perita em um par de lições e, na realidade, não tinha importância. Se Dorcas resultasse um fracasso artístico, eu deveria forçar um pouco mais a verdade quando pretendesse dizer que a obra era dela.
Eu não tinha pressa; não podia precipitar o assunto. Assim, depois de um par de meses, a escola de Dorcas tinha produzido uma dúzia de quadros, todos eles temas cuidadosamente escolhidos, familiares a um Superchimp de Porto Goddard. Havia um estudo da laguna, uma vista de nossa casa, uma impressão de um lançamento noturno (todo resplendor e explosões de luz), uma cena de pesca, um bosquezinho de palmeiras. Clichês, é obvio, mas qualquer outra coisa teria despertado suspeitas. Não acredito que, antes de viver conosco, Dorcas tenha visto muito do mundo fora dos laboratórios onde a criaram e treinaram.
Pendurei as melhores pinturas (e algumas eram boas; depois de tudo, eu deveria sabê-lo) em lugares da casa que meus amigos dificilmente poderiam passar por cima. Tudo funcionou à perfeição; as perguntas admirativas eram seguidas de assombrados “Não me diga!”, quando eu modestamente negava toda a responsabilidade. A alguns custava bastante acreditá-lo, mas eu destruí rapidamente essa incredulidade: deixei que uns poucos e privilegiados amigos vissem Dorcas trabalhando. Escolhi os espectadores por sua ignorância em matéria artística, e o quadro era uma abstração em vermelho, ouro e negro, que ninguém se atreveu a criticar. A esta altura, Dorcas podia fingir muito bem, como um ator de cinema que simula tocar um instrumento musical.
Simplesmente para divulgar a notícia, dei de presente algumas das melhores pinturas, simulando que as considerava simples novidades divertidas. Ao mesmo tempo, deslizei um comentário ciumento:
— Contratei Dorcas para meu serviço, não para o Museu de Arte Moderna — disse mal-humorada.
E tive muito cuidado de não fazer nenhuma comparação entre seus quadros e os do Christine; isso não se podia confiar a nossos amigos mútuos.
Quando Christine veio ver-me, ostensivamente para discutir nossa briga “como duas pessoas sensatas”, soube que ela estava alarmada. De modo que capitulei graciosamente enquanto tomávamos chá na sala, sob uma das obras mais impressionantes de Dorcas. (Lua cheia sobre a laguna; muito fria, azul e misteriosa. Na realidade, me orgulhava bastante.) Não se disse uma palavra sobre a pintura ou sobre Dorcas; mas os olhos do Christine me disseram tudo o que eu queria saber. Na semana seguinte ela cancelou sem ruído uma exposição que tinha planejado.
Os jogadores dizem que se deve abandonar o jogo quando se está ganhando. Se me tivesse posto a pensar, teria me dado conta que Christine não ia deixar as coisas assim. Cedo ou tarde, o contra-ataque era inevitável.
Escolheu bem o momento. Esperou que os meninos estivessem no colégio, a avozinha passeando e eu no supermercado, no outro lado da ilha. Provavelmente tenha telefonado antes para assegurar-se que não houvesse ninguém em casa; quer dizer, ninguém humano. Havíamos dito a Dorcas que não respondesse mais às chamadas. Os primeiros dias o fez, mas muito mal. No telefone, um Superchimp soa igual a um bêbado, o qual pode ocasionar todo tipo de complicações.
Posso reconstruir toda a seqüência dos acontecimentos: Christine deve ter dirigido até a casa e entrado, mostrando-se profundamente desiludida por minha ausência. Não deve ter perdido tempo em interrogar Dorcas, mas felizmente eu tinha tomado a precaução de instruir meu antropóide colega.
— Dorcas fazer — lhe repetia cada vez que finalizávamos uma de nossas produções. — Senhora não fazer, Dorcas fazer.
Estou segura que, no final, ela mesma acreditou.
Se minha lavagem cerebral e as limitações de um vocabulário de cinqüenta palavras desconcertaram Christine, não foi por longo tempo. Era uma mulher de ação direta e Dorcas uma criatura dócil e obediente. Christine, resolvida a desmascarar a fraude e confabulação de minha parte, deve ter se sentido satisfeita pela rapidez com que foi conduzida à garagem-estúdio; também deve ter ficado um pouquinho surpresa.
Cheguei à casa uma meia hora mais tarde e soube que haveria dificuldades assim que vi o automóvel de Christine estacionado contra a calçada. Minha única esperança era ter chegado a tempo, mas logo que entrei na casa misteriosamente silenciosa, compreendi que era muito tarde. Algo tinha acontecido; Christine falaria, mesmo que tivesse somente um símio por ouvinte, Para ela, todo silêncio era um desafio tão grande como uma tela em branco; tinha que enchê-lo com o som de sua própria voz.
A casa estava em total silêncio. Com crescente temor, atravessei em pontas de pé a sala, e a cozinha, para a parte posterior. A porta da garagem estava aberta. Espiei prudentemente.
Foi o amargo momento da verdade. Liberada de minha influência, Dorcas havia por fim desenvolvido um estilo próprio. Estava pintando rápida e confidencialmente, mas não da forma que eu tinha lhe ensinado. Quanto ao tema...
Senti-me muito ferida quando vi a caricatura que tanto prazer estava dando a Christine. Depois de tudo o que eu tinha feito por Dorcas, isto parecia uma ingratidão. É obvio, sei que não havia malícia, e que somente estava se expressando. Os psicólogos e os críticos que escreveram essas absurdas notas para os programas de sua exibição no Guggenheim, dizem que seus retratos arrojam uma viva luz sobre a relação homem-animal e pela primeira vez nos permitem ver a raça humana de fora. Mas eu não o vi nessa forma quando ordenei a Dorcas que voltasse para a cozinha.
Pois não foi somente o tema que me transtornou: o que realmente me zangou foi pensar em todo o tempo que tinha desperdiçado melhorando a sua técnica... e as suas maneiras. Ignorava tudo o que eu lhe tinha explicado, sentada frente ao cavalete com os braços cruzados e imóveis sobre o peito.
Mesmo então, no começo de sua carreira como artista independente, foi dolorosamente óbvio que Dorcas tinha mais talento em qualquer dos velozes pés que eu em minhas duas mãos.
A Saída de Saturno
Sim, é certo. Conheci Morris Perlman quando eu tinha uns vinte e oito anos. Nessa época conheci milhares de pessoas, de presidentes para baixo.
Quando voltamos de Saturno todo mundo queria nos ver e quase a metade da tripulação saiu em excursão de conferências. Sempre gostei de falar (não me digam que não o notaram), mas alguns de meus colegas disseram que preferiam ir a Plutão antes que enfrentar outra audiência. Alguns o fizeram.
Meu território era o Meio Oeste e a primeira vez que topei com o senhor Perlman, ninguém o chamava de outra forma; ao menos nunca o chamavam “Morris”, foi em Chicago. A agência sempre me registrava em hotéis bons, mas não muito luxuosos. Isso me agradava; preferia os lugares onde podia ir e vir conforme meu desejo, sem cruzar com um montão de lacaios com libré, e onde podia colocar algo racional sem que me fizessem sentir um vagabundo. Já vejo que sorriem sarcasticamente; bom, então eu era somente um moço, e mudaram tantas coisas...
Passou-se já muito tempo, mas devo haver estado fazendo conferências na Universidade. De toda forma, recordo minha desilusão porque não puderam me mostrar o lugar onde Fermi ativou a primeira pilha atômica. Disseram que esse edifício tinha sido derrubado quarenta anos antes e só ficara uma placa para marcar o lugar. Olhei-a por um momento, pensando em tudo o que tinha ocorrido desde aquele longínquo dia de 1942. Tinha nascido eu, entre outras coisas; e o poder atômico me tinha levado até Saturno e trazido de volta. Isso era possivelmente algo que Fermi e Cia nunca tinham pensado quando construíram sua primeira grade de urânio e grafite.
Eu estava tomando o café da manhã na cafeteria quando um homem miúdo, de meia-idade, sentou-se no outro lado da mesa. Disse bom dia cortesmente e logo teve uma surpresa ao me reconhecer. (Ele tinha planejado o encontro, é obvio, mas naquele momento não me dei conta.)
— Que prazer! — disse. — Ontem à noite estive na sua conferência. Como o invejei! —Sorri algo forçadamente; nunca sou muito sociável durante o café da manhã e tinha aprendido a estar em guarda contra os maníacos, os chatos e os entusiastas que pareciam me considerar sua legítima presa. O senhor Perlman não era um chato, embora por certo fosse um entusiasta, e suponho que poderíamos chamá-lo maníaco.
Tinha a aparência de qualquer homem de negócios medianamente próspero, e supus que era um hóspede como eu mesmo. Que tivesse assistido a minha conferência não era surpreendente: foi aberta ao público e, é obvio, com muita publicidade na imprensa e rádio.
— Desde a infância — disse meu não convidado companheiro — Saturno me fascinou. Sei exatamente quando e como começou tudo. Devia ter uns dez anos quando conheci aquelas maravilhosas pinturas do Chesley Bonestell, mostrando como se veria o planeta de suas nove luas. Suponho que você as terá visto.
— Acredito que sim — respondi. — Embora tenham quase meio século, ninguém as superou. Havia um par delas a bordo do Endeavor penduradas ao lado dos planos. Freqüentemente olhava os quadros e depois os comparava com o original.
— Então sabe como me sentia, lá na década de cinqüenta. Costumava me sentar durante horas tratando de apreender o fato que este objeto incrível, com seus anéis de prata girando ao redor, não era o sonho de um artista, mas sim realmente existia; que era um mundo dez vezes maior que a Terra. Nessa época não imaginei que poderia ver essa maravilha com meus próprios olhos; pensei que só os astrônomos, com seus gigantescos telescópios, poderiam ver esse espetáculo. Mas então, aos quinze anos, fiz outro descobrimento, tão emocionante que quase não pude acreditar.
— Que descobrimento? — perguntei.
Tinha-me reconciliado já com a idéia de compartilhar o café da manhã; meu companheiro parecia uma pessoa bastante inofensiva e havia algo de simpático em seu óbvio entusiasmo.
— Descobri que até um parvo podia construir um poderoso telescópio astronômico em sua própria cozinha, por uns poucos dólares e com o trabalho de um par de semanas. Foi uma revelação: assim como milhares de outros moços, tirei da biblioteca pública um exemplar de “Construa seu Telescópio” do Ingall, e segui adiante. Me diga: você construiu alguma vez um telescópio?
— Não; sou engenheiro, não astrônomo. Não saberia como começar.
— É incrivelmente simples, se se seguirem as instruções. Começa-se com dois discos de vidro, de uma polegada de espessura. Os meus eu comprei por cinqüenta centavos a um fornecedor de navios; eram cristais que já não serviam porque estavam estilhaçados nas bordas. Então se prende um disco a uma superfície plana e firme. Eu usei um velho barril colocado de pé. Depois terá que comprar diversos graus de pó de esmeril, do mais grosso e arenoso até o mais fino que existe. Coloca um pingo do pó mais grosso entre ambos os discos e começa a esfregar o superior para diante e para trás com movimentos regulares. Ao fazer isso se vai rodando lentamente. Vê o que acontece? O pó de esmeril cava o disco superior, que se transforma em uma superfície côncava e esférica. De vez em quando terá que trocar o pó por um grau mais fino, e fazer algumas prova ópticas simples para ver se a curva está bem. Depois se troca o esmeril por colcótar, até que finalmente se obtém uma superfície tão suave e polida que parece incrível que a tenha feito a gente mesmo. Agora só fica um passo, embora seja algo mais complexo. Ainda terá que chapear o espelho e convertê-lo em um bom refletor. Isso significa conseguir alguns produtos químicos na farmácia, e fazer exatamente o que diz o livro. Ainda recordo o prazer que senti quando o filme de prata começou a estender-se como por arte de magia sobre a cara de meu pequeno espelho. Não era um espelho perfeito, mas era bastante bom, e eu não o teria trocado por nada do que havia em Monte Pombal.
Ele continuou:
— Fixei-o no extremo de uma tábua; não havia necessidade de preocupar-se com um tubo telescópico, embora tenha posto meio metro de cartão ao redor do espelho, para que não entrasse luz. Como ocular, utilizei uma pequena lente de aumento que consegui em uma loja de sucata por uns poucos centavos. No total não acredito que o telescópio me tenha custado mais de cinco dólares, embora isso fosse muito dinheiro para mim quando menino. Vivíamos então em um hotel arruinado que minha família possuía na Terceira Avenida. Logo depois de armar o telescópio, subi ao teto e o testei, entre a selva de antenas de TV que cobria cada edifício naqueles dias. Demorei um momento para alinhar o espelho e o ocular, mas não tinha cometido nenhum engano, e funcionou. Como instrumento óptico, provavelmente fosse desastroso (depois de tudo era minha primeira prova), mas aumentava pelo menos cinqüenta vezes, e logo que pude esperar até a queda da noite para prová-lo nas estrelas.
Tinha sido cuidadoso no calendário e sabia que Saturno estava alto no este logo depois do pôr-do-sol. Assim que escureceu, estive novamente no teto, com meu louco artefato de madeira e vidro escorado entre duas chaminés. Era fim do outono, mas não notei o frio, pois o céu estava cheio de estrelas... e eram todas minhas. Tomei o tempo necessário para estabelecer a distância focal com a maior exatidão possível, utilizando a primeira estrela que entrou no campo. Então comecei a perseguir Saturno e não demorei para descobrir quão difícil é localizar algo em um telescópio de reflexão que não está corretamente montado. Mas logo o planeta atravessou rapidamente o campo de visão; movi o instrumento para ali e para lá umas poucas polegadas e ali estava.
Era diminuto, mas perfeito. Acredito que não respirei durante um momento; apenas podia acreditar no que viam meus olhos. Logo depois de todos os desenhos, ali estava a realidade. Parecia um brinquedo pendurando no espaço, com os anéis ligeiramente abertos e inclinados para mim. “Parece tão artificial... como um adorno de uma árvore de Natal!” Havia uma só estrela brilhante a seu lado, e soube que era Titã.
Perlman fez uma pausa e durante um momento devemos ter compartilhado os mesmos pensamentos. Pois, para ambos, Titã já não era simplesmente a lua maior de Saturno, um ponto luminoso conhecido só pelos astrônomos. Era o feroz mundo hostil sobre o qual tinha aterrissado o Endeavor e onde três de meus companheiros da tripulação jaziam em suas tumbas solitárias, mais longe de seus lares do que tinha descansado jamais morto algum da Humanidade.
— Não sei quanto tempo olhei, forçando os olhos e movendo o telescópio através do céu, enquanto Saturno subia sobre a cidade. Estava a um bilhão de quilômetros de Nova Iorque; mas logo voltei para a realidade de Nova Iorque. Já lhe falei de nosso hotel; pertencia a minha mãe, mas o dirigia meu pai, e não muito bem. Tinha perdido dinheiro durante anos e ao longo de toda a minha infância atravessamos contínuas crises financeiras. Assim não culpo meu pai por beber; devia ter estado meio louco de preocupação a maior parte do tempo. E eu tinha esquecido completamente que devia ajudar o empregado na recepção... De modo que papai veio me buscar, sumido em suas próprias preocupações e sem saber nada de meus sonhos. Encontrou-me observando as estrelas no teto. Não era um homem cruel; não teria podido compreender o estudo e a paciência e os cuidados com que construí meu pequeno telescópio, nem as maravilhas que este me mostrou no curto tempo que o utilizei. Já não o odeio, mas recordarei toda minha vida o som de meu primeiro e último espelho quando se fez em pedaços contra a alvenaria.
Não havia nada que eu pudesse dizer. Fazia tempo que meu ressentimento inicial por esta interrupção se transformara em curiosidade. Já pressentia que havia muito mais nessa história que o que tinha escutado até então e notei outra coisa. A garçonete nos tratava com exagerada deferência... e só um pouco dessa deferência estava dirigida a mim.
Meu acompanhante brincou com o açúcar enquanto eu esperava em pormenorizado silêncio. Sentia então que havia algum laço entre nós, embora não soubesse exatamente no que consistia.
— Nunca construí outro telescópio — disse. — Algo mais se rompeu, além desse espelho: algo em meu coração. De toda forma, eu estava muito ocupado. Ocorreram duas coisas que transformaram minha vida. Papai nos abandonou, me deixando como cabeça de família. E demoliram o elevado da Terceira Avenida.
Deve ter notado minha perplexidade, porque me sorriu por cima da mesa.
— Oh, não sabe. Mas, quando eu era menino, havia uma via de trem elevada que corria em cima da Terceira. Fazia com que toda a zona fosse suja e ruidosa; a Avenida era um bairro baixo, cheio de bares, casas de penhores e hotéis baratos como o nosso. Tudo isso mudou com o desaparecimento da via elevada. Os preços dos imóveis subiram e de repente nos encontramos na prosperidade. Papai voltou rapidamente, mas era muito tarde: eu dirigia o negócio. Logo comecei a me mover em toda a cidade; depois em todo o país. Já não era um distraído buscador de estrelas e dei a papai um de meus hotéis menores, onde não podia fazer muito dano. Fazem quarenta anos que vi Saturno, mas nunca esqueci esse espetáculo único, e ontem à noite suas fotografias me recordaram tudo. Somente queria lhe dizer o quanto estou agradecido.
Procurou algo na carteira e tirou um cartão.
— Espero que me busque quando vier outra vez à cidade; pode estar seguro que não faltarei se der mais conferências. Boa sorte e lamento haver abusado de seu tempo
E se foi, antes que eu pudesse dizer uma palavra. Olhei o cartão, guardei-a no bolso e terminei o café da manhã, algo pensativo.
Quando assinei o cheque, no caminho da cafeteria, perguntei:
— Quem era esse cavalheiro sentado a minha mesa? O chefe?
A encarregada me olhou como se eu fosse um retardado mental.
— Suponho que poderia chamá-lo assim, senhor — respondeu. — É obvio que este hotel lhe pertence, mas nunca o vi antes por aqui. Sempre fica no Ambassador quando está em Chicago.
— E aquele também lhe pertence? — perguntei, sem muita ironia, pois já suspeitava a resposta.
— Claro que sim. Também... — e disse rapidamente toda uma enxurrada de hotéis, incluindo os dois maiores de Nova Iorque.
Eu estava impressionado e também achei graça, pois era claro que o senhor Perlman tinha ido ali com a deliberada intenção de me encontrar. Parecia uma forma indireta de fazê-lo; naquela época eu não sabia nada de seu notório acanhamento e reserva. Desde o principio, comigo, ele nunca foi tímido.
Depois o esqueci durante cinco anos. (Oh, deveria dizer que quando pedi a conta me disseram que não havia.) Nesses cinco anos fiz a segunda viagem.
Esta vez sabíamos o que esperar e não íamos para o desconhecido. Não havia mais preocupações pelo combustível, pois tudo o que necessitávamos aguardava em Titã; só tínhamos que comprimir sua atmosfera de metano dentro dos tanques e tínhamos incluído isso em nossos planos. Visitamos as nove luas, uma atrás da outra; e depois entramos nos anéis...
Embora houvesse pouco perigo, era uma experiência que destroçava os nervos. Como vocês sabem, o sistema de anéis é muito fino: só uns trinta quilômetros de largura. Descemos lenta e cautelosamente logo depois de ajustamos ao seu movimento, de modo que íamos exatamente à mesma velocidade que o anel. Era como subir em um carrossel de duzentos e sessenta mil quilômetros de diâmetro...
Mas um carrossel fantasmagórico, pois os anéis não são sólidos e se pode olhar através deles. De perto são quase invisíveis; os trilhões de partículas que os formam estão tão separados, que a única coisa que se vê perto de uma, são ocasionais partes pequenas, flutuando lentamente. É só ao olhar ao longe, que os incontáveis fragmentos se fundem em uma superfície contínua, como uma chuva de granizo que girasse ao redor de Saturno para sempre.
Essa frase não é minha, mas é boa. Pois quando levamos a comporta de ar à primeira parte do genuíno anel de Saturno, derreteu-se em poucos minutos, convertendo-se em um atoleiro de água barrosa. Algumas pessoas pensam que a magia desaparece ao saber que os anéis são, noventa por cento, simples gelo. Mas essa atitude é estúpida; seriam igualmente maravilhosos, e igualmente formosos, se fossem de diamante.
Quando voltei para a Terra, no primeiro ano do novo século, saí em outra excursão de conferências; uma excursão curta, pois agora tinha uma família, e queria vê-la o mais possível. Desta vez me encontrei com o senhor Perlman em Nova Iorque, enquanto falava em Columbia e mostrava nosso filme “Explorando Saturno”. (Um título enganoso, já que o mais perto que estivemos do planeta foi a uns trinta mil quilômetros. Ninguém sonhava, naqueles dias, que os homens desceriam alguma vez na turbulenta lama gelada que é a superfície de Saturno.)
O senhor Perlman me esperava logo depois da conferência. Não o reconheci, pois tinha visto algo assim como um milhão de pessoas logo depois de nosso último encontro. Mas quando me deu seu nome, tudo voltou tão claramente que compreendi que devia ter deixado uma profunda impressão em minha mente.
De alguma forma me separou da multidão; embora lhe desagradasse encontrar alguém em meio da massa, tinha a extraordinária arte de dominar qualquer grupo quando era necessário, e logo desaparecer antes que suas vítimas soubessem o que tinha acontecido. Até que o vi em ação muitas vezes, nunca soube exatamente como o fazia.
De toda forma, meia hora depois estávamos desfrutando de uma soberba janta em um restaurante exclusivo (dele, é obvio). Foi uma comida maravilhosa, especialmente depois do frango e sorvete da excursão, mas me fez pagá-la. Metaforicamente, quero dizer.
As experiências e as fotos recolhidas por ambas as expedições a Saturno estavam ao alcance de todo mundo, em centenas de informes e livros e artigos populares. O senhor Perlman parecia ter lido todo o material que não fosse muito técnico; o que queria de mim era algo diferente. Mesmo então pensei que seu interesse era o de um homem solitário, envelhecido, que tentava recapturar um sonho perdido na juventude. Tinha razão; mas essa era só uma parte da verdade.
Estava atrás de algo que todos os informes e artigos não puderam transmitir. O que se sentia ao despertar de manhã, e ver esse grande globo dourado com seus etéreos cinturões de nuvens dominando o espaço? E os anéis mesmos, no que faziam pensar quando estavam tão perto que enchiam o céu de lado a lado?
— Você quer um poeta — disse — não um engenheiro. Mas lhe direi isto: por mais tempo que olhe para Saturno, e voe ao redor e entre suas luas, nunca pode acreditar nele. Freqüentemente a gente se surpreende pensando: tudo isto é um sonho: algo assim não pode ser real. Vai à escotilha mais próxima... e ali está, lhe tirando o fôlego. Deve recordar que, além da nossa proximidade, podíamos olhar os anéis de ângulos muito vantajosos, completamente impossíveis da Terra, onde sempre os vemos voltados para o Sol. Voávamos sob sua sombra e então já não cintilavam como prata; eram uma débil bruma, uma ponte de fumaça entre as estrelas. E na maior parte do tempo podíamos ver a sombra de Saturno caindo ao largo dos anéis, eclipsando-os tão completamente que parecia como se lhes tivessem tirado uma grande dentada. Também acontecia o inverso: no lado diurno do planeta sempre estavam as sombras dos anéis correndo como uma fita poeirenta paralela e não muito longínqua ao Equador.
— Além disso — continuei — embora fizéssemos isto só umas poucas vezes, podíamos nos elevar sobre qualquer dos pólos do planeta e olhar de cima esse maravilhoso sistema. Então observávamos que, em lugar dos quatro visíveis da Terra, havia pelo menos uma dúzia de anéis entrecruzados. Quando vimos isso, nosso comandante fez uma observação que nunca esqueci: “Aqui” disse, e não havia rabugice em suas palavras, “é onde os anjos estacionam suas auréolas.”
Tudo isto, e muito mais, o contei ao senhor Perlman nesse restaurante pequeno, mas oh-tão-caro ao sul do Central Park. Quando terminei pareceu muito agradecido, embora não falasse durante vários minutos. Depois disse, tão casualmente como quando se pergunta o horário do próximo trem na estação local:
— Qual seria o melhor satélite para um centro turístico?
Quando compreendi o que ele acabava de dizer, quase me engasguei com o brandy de cem anos. Então respondi, muito paciente e cortesmente (depois de tudo tinha sido um jantar delicioso):
— Escute, senhor Perlman. Você sabe tão bem como eu que Saturno está a quase quinhentos milhões de quilômetros da Terra; muito mais, na realidade, quando estamos em lados opostos do Sol. Alguém calculou que nossas passagens de ida e volta chegavam a sete milhões e meio de dólares por pessoa. E pode me acreditar, não havia comodidades de primeira classe no Endeavor I ou II. De toda forma, por mais dinheiro que tenha, ninguém pode comprar uma passagem para Saturno. Só os cientistas e as tripulações espaciais viajarão para lá, durante todo o tempo que se possa imaginar.
Pude ver que minhas palavras não tinham efeito algum; o senhor Perlman sorriu, simplesmente, como se soubesse algum segredo.
— O que você diz é certo agora — respondeu. — Mas estudei história. E compreendo as pessoas: esse é meu negócio. Permita-me lhe recordar alguns feitos: Há dois ou três séculos, quase todos os grandes centros turísticos mundiais e lugares formosos estavam tão longe da civilização como hoje está Saturno. O que sabia Napoleão, por exemplo, do Grande Cânion, das Cataratas de Vitória, do Havaí ou do Monte Everest? E olhe o Pólo Sul; chegaram a ele pela primeira vez quando meu pai era um moço. Mas há um hotel ali já faz uma geração.
— Agora — continuou — tudo começa de novo. Você pode apreciar somente os problemas e as dificuldades porque está demasiado perto dessas coisas. Sejam quais forem, o homem as superará, como sempre tem feito no passado. Pois em qualquer lugar que haja algo estranho ou bonito, as pessoas quererão vê-lo. Os anéis de Saturno são o maior espetáculo de todo o universo conhecido: sempre pensei assim e agora você me convenceu. Hoje em dia custa uma fortuna chegar a eles e os homens que vão devem arriscar suas vidas. O mesmo fizeram os primeiros homens que voaram; mas agora há um milhão de passageiros no ar a cada segundo do dia e da noite. O mesmo ocorrerá com o espaço. Não ocorrerá em dez anos, nem em vinte possivelmente. Mas vinte e cinco anos foi tudo o que fez falta, recorde, para que começassem os primeiros vôos comerciais para a Lua. Não acredito que com Saturno se passe tanto tempo... Não estarei aqui para vê-lo. Mas quando ocorrer quero que as pessoas me recordem. Assim..., onde deveríamos construir?
Ainda pensava que esse homem estava louco, mas pelo menos começava a compreender suas motivações. E não havia nenhuma razão para não lhe seguir a corrente, de modo que pensei cuidadosamente no assunto.
— Mímicas está muito perto — disse — e o mesmo passa com Enciumado e Tetis. —Não me importa confessar que me custou pronunciar todos esses nomes depois de tanto brandy. — Saturno simplesmente enche o céu e você pensa que está a ponto de cair em cima. Além disso, as luas não são suficientemente sólidas; são só enormes bolas de neve. Dione e Rhea são melhores: de ambas se tem uma vista magnífica. Mas todas essas luas interiores são tão pequenas... até a Rhea, que tem só mil e seiscentos quilômetros de diâmetro e as outras são muito menores. Não acredito que se possa discutir: terá que ser Titã. Esse é um satélite à medida do homem, muito maior que nossa lua, e quase tão grande como Marte. Há uma gravidade razoável além disso (quase um quinto da terrestre), de modo que seus convidados não andarão flutuando por todo o lugar. E sempre será um importante ponto para a carga de combustível, por causa da atmosfera de metano, que deveria ser um fator importante em seus cálculos. Cada nave que saia para Saturno aterrissará ali.
— E as luas exteriores?
— Oh, Hiperión, Japeto e Febe estão muito afastadas. De Febe quase não se vêem os anéis! As esqueça. Fique com Titã. Embora a temperatura seja de noventa graus abaixo de zero, e a neve de amônia não seja a mais agradável para esquiar.
Escutou-me com muita atenção e se pensou que eu estava rindo de suas noções não práticas e anti-científicas, não o demonstrou. Logo nos separamos, não recordo mais nada desse jantar, e logo devem ter passado quinze anos até que voltamos a nos encontrar. Não necessitou de mim em todo esse tempo; mas quando lhe fiz falta, chamou-me.
Agora vejo o que esteve esperando: foi mais previdente que eu. Não podia adivinhar, é óbvio, que o foguete seguiria o caminho do motor a vapor em menos de um século; mas sabia que algo melhor surgiria, e acredito que financiou os primeiros trabalhos do Saunderson sobre o Impulso da Paragravidade. Mas apenas entrou em contato comigo quando começaram a construir planilhas de fusão que podiam esquentar duzentos quilômetros quadrados de um mundo tão frio como Plutão.
Era um homem muito velho, e moribundo. Falaram-me como era rico e quase não pude acreditar. Não, até que me mostrou os elaborados planos e os belos modelos que seus peritos tinham preparado com tão notável falta de publicidade.
Permaneceu sentado na cadeira de rodas como uma múmia enrugada, observando meu rosto, enquanto eu estudava os modelos e os planos. Em um dado momento, me disse:
— Capitão, tenho um trabalho para você...
E aqui estou. É o mesmo que dirigir uma espaçonave, é obvio. Muitos dos problemas técnicos são idênticos. E a esta altura sou muito velho para comandar uma nave, de modo que estou muito agradecido ao senhor Perlman.
Soou o gongo. Se as damas estiverem preparadas, sugiro que vamos jantar, atravessando a Sala de Observação. Mesmo depois de todos estes anos eu gosto de olhar a saída de Saturno. E esta noite ele estará quase cheio.
Faça-se a Luz
A conversa havia tornado a versar sobre raios da morte, e algum crítico estava rindo das capas das revistas de ficção científica, que mostravam tão freqüentemente raios multicoloridos criando estragos em todas as direções.
— Que disparate científico tão elementar — soprou. — Todas as radiações visíveis são inofensivas; não estaríamos vivos se não fossem. Qualquer um deveria saber que os raios verdes e os raios púrpuras e os raios escoceses são tolices. Inclusive se poderia fazer uma regra: se consegue ver um raio, esse raio não pode te fazer mal.
— Uma teoria interessante — disse Harry Purvis — mas não se ajusta aos fatos. O único raio mortal que eu encontrei pessoalmente era perfeitamente visível.
— Sim? De que cor era?
— Voltarei a isso em um minuto, se vocês o desejarem. Mas falando de voltas...
Apanhamos Charlie Willis antes que ele pudesse correr do bar e praticamos um pouco de jiu-jitsu com ele, até que os copos estiveram novamente cheios. Então desceu sobre o Cervo Branco um desses silêncios curiosos, cheios de suspense, que todos os paroquianos reconhecem como o prelúdio de uma das improváveis historia do Harry Purvis.
Edgar e Mary Burton eram um casal um tanto incompatível, e nenhum de seus amigos podia explicar por que se casaram. Possivelmente a explicação cínica era a correta; Edgar tinha quase vinte anos a mais que a mulher, e tinha feito um quarto de milhão no negócio de câmbio. Antes de retirar-se, em uma idade excepcionalmente avançada, fixou-se esse objetivo financeiro, e tinha trabalhado duro para obtê-lo; e quando seu extrato bancário chegou à cifra desejada, instantaneamente perdeu toda ambição. De agora em diante se propunha viver a vida de um rico latifundiário e consagrar os últimos anos a sua única e absorvente paixão: a astronomia.
—— Por alguma razão, parece surpreender a muita gente que o interesse pela astronomia seja compatível com a acuidade para os negócios, ou inclusive com o senso comum. Isto é um engano — disse Harry com muito calor — uma vez quase fui esfolado vivo em um jogo de pôquer por um professor de astrofísica do Instituto de Tecnologia da Califórnia.
Mas no caso do Edgar, a astúcia e uma vaga falta de prática pareciam combinar-se em uma só pessoa; uma vez que fez dinheiro este deixou de lhe interessar, e mesmo tudo o que não fosse a construção de telescópios de reflexão cada vez maiores.
Quando se afastou, Edgar comprou uma bela casa antiga no alto dos páramos de Yorkshire. A zona não era tão erma e parecida com Cúpulas Borrascosas como sonhava; tinha uma vista esplêndida e o Bentley chegava à cidade em quinze minutos. Apesar disso Mary não estava satisfeita pela mudança e não era difícil sentir alguma pena por ela.
Mary não tinha nenhum trabalho que fazer, pois os empregados se ocupavam da casa, e ela tinha poucos recursos intelectuais aos quais recorrer. Dedicou-se à equitação, fez-se sócia de todos os clubes de leitura, lia “O Fofoqueiro” e “Vida de Campo” de capa a capa, mas ainda sentia que lhe faltava algo.
Demorou uns quatro meses em descobrir o que era que queria; e logo o encontrou em uma festa de aldeia que, a não ser por isso, teria sido uma festa aborrecida. Media um metro e noventa, tinha pertencido aos Coldstream Guards, e sua família pensava que a Conquista Normanda era uma recente e lamentável impertinência. Chamava-se Rupert do Vere Courtenay (esqueceremos os outros seis nomes próprios) e era o solteiro mais cobiçado de todo o distrito.
Passaram-se duas semanas inteiras antes que Rupert, um cavalheiro inglês de altos princípios, criado nas melhores tradições da aristocracia, sucumbisse às galanterias de Mary. Essa queda foi acelerada pelo fato que sua família estava tratando de contratar um matrimônio com a Honorável Felicity Fauntleroy, que não era uma grande beleza. Certamente se parecia tanto com um cavalo que parecia perigoso aproximar-se dos famosos estábulos do pai quando os cavalos se exercitavam.
O aborrecimento de Mary e a determinação de Rupert em ter uma última e desesperada aventura, produziram o resultado inevitável. Edgar via cada vez menos a sua mulher, que encontrava uma surpreendente quantidade de razões para ir à cidade durante a semana. No princípio o alegrou que o círculo de conhecidos aumentasse tão rapidamente, e demorou vários meses para compreender que acontecia justamente o contrário.
É quase impossível, em uma pequena cidade rural como Stocksborough, manter em segredo uma relação durante muito tempo, embora isto seja algo que cada geração deve aprender por si mesmo, geralmente da maneira mais difícil. Edgar descobriu a verdade por acidente, mas algum bom amigo o teria dito cedo ou tarde. Tinha ido à cidade para a reunião da sociedade astronômica local, usando o Rolls, pois sua mulher já tinha saído com o Bentley e, na volta foi momentaneamente detido pela multidão que saía da última seção no cinema local. No meio da multidão estava Mary, acompanhada por um jovem muito bem apessoado, a quem Edgar tinha visto antes, mas que nesse momento não pôde identificar. Não teria pensado mais no assunto se Mary não houvesse mencionado indiscretamente, na manhã seguinte, que não tinha conseguido entrada para o cinema e que tinha passado uma noitada tranqüila com uma de suas amigas.
Até Edgar, absorvido como estava pelo estudo das estrelas variáveis, começou a somar dois mais dois e compreendeu que sua mulher estava mentindo gratuitamente. Não deixou transparecer suas vagas suspeitas, que deixaram de ser vagas logo no Baile de Caçadores local. Embora odiasse essas funções (e esta, para sua má sorte, tinha lugar justo quando Órion estava em seu mínimo e se perdia algumas observações vitais), compreendeu que agora tinha uma oportunidade de identificar o companheiro de sua mulher, pois todo o distrito estaria ali.
Foi muito fácil localizar Rupert e entrar em conversação com ele. Embora o jovem parecesse um tanto incomodado, era uma companhia agradável, e Edgar se surpreendeu ao achá-lo muito simpático. Se sua mulher devesse ter um amante, aprovava inteiramente sua escolha.
E assim ficaram as coisas durante alguns meses, sobretudo porque Edgar estava muito ocupado, estudando e calculando um espelho de quinze polegadas. Duas vezes por semana, Mary viajava à cidade, ostensivamente para encontrar os amigos ou para ir ao cinema, e voltava para casa pouco antes de meia-noite. Edgar podia ver as luzes do automóvel a vários quilômetros de distância, as luzes que se moviam para cá e para lá enquanto sua mulher dirigia de volta para casa, a uma velocidade que sempre lhe parecia excessiva. Essa era uma das razões pelas quais raras vezes saíam juntos; Edgar era um bom motorista, mas cauteloso, e sua cômoda velocidade de passeio estava quinze quilômetros por hora abaixo daquela da Mary.
Uns quatro quilômetros antes da casa as luzes do carro desapareciam durante vários minutos, pois uma colina ocultava a estrada. Ali havia uma curva perigosa. Em uma parte de estrada que mais parecia ser dos Alpes que da Inglaterra rural, a estrada abraçava a ladeira de um penhasco e bordejava um desagradável precipício de trinta metros. Quando o carro dobrava essa curva, os faróis davam totalmente sobre a casa e, muitas noites, enquanto estava sentado à ocular do telescópio, Edgar era cegado pelo súbito brilho. Afortunadamente esse lance da estrada era muito pouco utilizado durante a noite; de outra forma as observações teriam sido pouco menos que impossíveis, pois os olhos de Edgar demoravam de dez a vinte minutos a recuperar-se plenamente do golpe direto dos faróis. Isto não era mais que um pequeno inconveniente, mas quando Mary começou a ficar fora quatro ou cinco noites por semana, se converteu em um terrível desconforto. “Algo”, decidiu Edgar, “terei que fazer.”
— Não terá escapado à sua observação — continuou Harry Purvis — que durante todo este assunto o comportamento do Edgar Burton foi muito diferente daquele de uma pessoa normal. Por certo que qualquer um que pudesse trocar sua forma de vida tão completamente, de ocupado corretor de bolsa londrino a quase um recluso nos páramos do Yorkshire, forçosamente tinha que ter sido um pouco estranho, em primeiro lugar. Não obstante, não me atreveria a afirmar que fosse algo mais que um excêntrico, até que as chegadas noturnas da Mary começaram a interferir em suas importantes observações. E, mesmo depois, devemos admitir que houve uma certa lógica de loucura em seus atos.
— Tinha deixado de amar sua mulher alguns anos antes, mas se opunha a que se rissem dele. E Rupert do Vere Courtenay parecia um jovem simpático; resgatá-lo seria um ato de caridade. Bom, havia uma solução muito simples, que ocorreu ao Edgar em um relâmpago literalmente cegador. E por “literalmente” quero dizer literalmente, pois foi enquanto piscava ante o brilho dos faróis de Mary que Edgar concebeu o único assassinato realmente perfeito que há encontrei. É estranho como fatores aparentemente irrelevantes podem determinar a vida de um homem; embora odeie dizer algo contra a ciência mais antiga e mais nobre, é inegável, que se Edgar não se converteu em astrônomo, não teria se convertido nunca em assassino. Pois sua afeição o brindou com parte das motivações, e quase a totalidade dos meios...
Podia ter construído o espelho que necessitava, já era um perito então, mas neste caso a exatidão astronômica era desnecessária e era mais simples procurar um refletor de segunda mão em um desses negócios de refugos de guerra, perto do Leicester Square. O espelho tinha um metro de diâmetro e demorou somente umas poucas horas de trabalho armar um pé para sustentá-lo e colocar em seu foco um arco voltaico tosco, mas efetivo. Alinhar o raio de luz foi igualmente fácil e ninguém notou essas atividades, pois tanto sua mulher como seus empregados acreditavam que se dedicava a seus experimentos.
Fez um breve teste final numa noite escura e sem nuvens, e se instalou para esperar a volta de Mary. Não perdeu tempo, é obvio, e continuou as observações de rotina com um grupo seleto de estrelas.
Ao redor de meia-noite ainda não havia sinais de Mary, mas Edgar não se importou, porque estava obtendo séries magnificamente consistentes de magnitudes estelares. Tudo ia bem, embora não se detivesse a pensar por que Mary chegava tão tarde.
Finalmente viu as luzes do carro que vacilavam no horizonte e meio a contragosto interrompeu as observações. Quando o carro desapareceu detrás da colina, esperou com a mão no computador. Seu cálculo de tempo estava perfeito: no instante em que o automóvel dobrou a curva e os faróis o deslumbraram, fechou o arco.
Encontrar um automóvel na noite já é desagradável, até mesmo se a gente está preparado para isso e anda por um caminho reto. Mas se alguém está dobrando uma curva, sabe que não vem outro carro e, subitamente, se encontra olhando diretamente para uma luz cinqüenta vezes mais forte que qualquer farol... Bom, os resultados são mais que desagradáveis.
Isso era exatamente o que Edgar tinha calculado. Apagou o refletor quase imediatamente, mas as próprias luzes do carro lhe mostraram tudo o que queria ver. Olhou como giravam para o vale e logo para baixo, cada vez mais rapidamente, até que desapareceram depois do topo da colina. Houve um resplendor vermelho que durou alguns segundos, mas a explosão foi quase inaudível, o que era melhor, pois Edgar não queria incomodar os empregados.
Desarmou o pequeno refletor e voltou para o telescópio; não tinha completado as observações. Logo, satisfeito de um bom serão, foi para cama.
Seu sonho foi profundo, mas breve, pois uma hora depois começou a soar o telefone. Sem dúvida alguém tinha encontrado os restos do acidente, mas Edgar desejou que o tivessem deixado dormir até a manhã, pois um astrônomo necessita todo o sono possível. Com certa irritação levantou o telefone e se passaram vários segundos até que compreendeu que sua mulher estava do outro lado da linha. Chamava-o de Courtenay Agrada e queria saber o que tinha se passado com Rupert.
Aparentemente eles tinham decidido reconhecer com franqueza todo o assunto e Rupert (debilitado pelo forte licor), tinha aceitado ser um homem e dar a notícia ao Edgar. Ia chamar assim que tivesse feito isso e dizer à Mary como tinha reagido seu marido. Ela tinha esperado todo o possível com impaciência e alarme crescentes, até que por fim a ansiedade superou à discrição.
Não preciso dizer que o golpe ao já desequilibrado sistema nervoso do Edgar foi considerável. Mary, depois de falar alguns minutos com seu marido, compreendeu que este tinha enlouquecido completamente. Somente na manhã seguinte soube do Rupert.
Acredito que Mary teve bastante sorte. Rupert não era muito inteligente e nunca teriam feito um bom casal. Quando a loucura do Edgar foi devidamente certificada, Mary recebeu um poder para dispor do patrimônio, e rapidamente se mudou para Dartmouth, onde alugou um apartamento encantador, perto do Real Colégio Naval, e raras vezes tinha que dirigir ela mesma o novo Bentley.
— Mas estou divagando — concluiu Harry — e antes que algum de vocês, céticos, pergunte-me como sei isto, sei através do comerciante que comprou os telescópios do Edgar quando o encarceraram. É triste que ninguém acreditasse em sua confissão. A opinião generalizada foi que Rupert tomou muito e que dirigia a muita velocidade por uma estrada perigosa. Isso pode ser certo, mas prefiro pensar que não. Depois de tudo, essa seria uma forma aborrecida de morrer. Ser assassinado por um raio mortal seria um destino mais adequado para um Vere Courtenay e, nestas circunstâncias, não acredito que ninguém possa negar que Edgar usou um raio da morte. Foi um raio e matou a alguém. Que mais querem?
A Morte e o Senador
Washington nunca tinha estado mais bela na primavera; e esta era a última que ele veria, pensou desolado o senador Steelman. Até agora, apesar de tudo o que lhe havia dito o doutor Jordan, não podia aceitar a verdade. No passado sempre tinha havido uma forma de escapar; nenhuma derrota tinha sido definitiva. Quando os homens o traíam, jogava com eles; arruinava-os inclusive, como advertência a outros. Mas agora a traição ele a tinha dentro de si; já lhe parecia sentir o trabalhoso batimento do coração que logo se calaria. Era inútil fazer planos para as eleições presidenciais de 1976; possivelmente não viveria para ver a apresentação de candidaturas...
Era o fim dos sonhos e da ambição, e não podia consolar-se com a ideia que, para todos os homens, essas coisas devem terminar algum dia. Era muito cedo para ele; pensou em Cecil Rhodes, que sempre tinha sido um de seus heróis, gritando: “Tanto para fazer, e tão pouco tempo!”, ao morrer antes dos cinqüenta anos. Ele já era mais velho que Rhodes, e tinha feito muito menos.
O automóvel o afastava do Capitólio; havia nisso algo de simbólico, e tratou de afastar o pensamento. Agora passava por diante do Novo Smithsoniano, enorme complexo de museus que nunca tinha tido tempo de visitar, embora tivesse visto como crescia ao longo do Mall durante os anos que esteve em Washington. Quantas coisas tinha perdido, pensou amargamente, em sua inexorável busca do poder. Todo o universo da arte e a cultura tinha estado quase fechado para ele e essa era só uma parte do preço que tinha pagado. Tornou-se um estranho para a família e para aqueles que alguma vez foram seus amigos. Sacrificou o amor no altar da ambição e o sacrifício foi em vão. Haveria alguém no mundo que chorasse sua partida?
Sim, havia. O sentimento de total desolação que o oprimia se atenuou um pouco. Ao tomar o telefone sentiu vergonha de ter que chamar o escritório para conseguir esse número, quando sua mente estava abarrotada de tantas lembranças menos importantes.
(Ali estava a Casa Branca, quase deslumbrante sob o sol primaveril. Pela primeira vez em sua vida não lhe deu uma segunda olhada. Pertencia já a outro mundo, um mundo que nunca voltaria a lhe interessar.)
O telefone do automóvel não tinha visor, mas não a necessitava para sentir a leve surpresa do Irene, e seu prazer ainda mais leve.
— Olá, Renee. Como estão todos?
— Muito bem, papai. Quando o veremos?
Era a fórmula cortês que sua filha sempre utilizava nas raras ocasiões em que ele chamava. E, invariavelmente, exceto no Natal ou nos aniversários, sua resposta era uma vaga promessa de visitá-los em alguma indefinida data futura.
— Estava pensando — disse lentamente, quase se desculpando — se poderia levar os meninos por uma tarde. Faz muito tempo que não os levo a passear e tenho vontade de escapar do escritório.
— É obvio — respondeu Irene, com alegria na voz. — Eles adorarão. Quando você gostaria de levá-los?
— Amanhã estaria bem. Poderia passar ao redor das doze e levá-los ao zoológico ou ao Smithsoniano, ou a qualquer outro lugar que queriam visitar.
Agora Irene estava verdadeiramente alarmada, já que sabia muito bem que ele era um dos homens mais ocupados de Washington, com o programa de trabalho planejado com semanas de antecipação. Ela estaria perguntando-se o que acontecia e esperava que não adivinhasse a verdade. Não havia nenhuma razão para que o fizesse, pois nem mesmo sua secretária sabia das dores agudas que o tinham levado a esse exame médico longamente adiado.
— Seria maravilhoso. Justo ontem falavam de ti, perguntando quando voltariam a ver-te.
Os olhos do senador se umedeceram e se alegrou pelo fato de que Renee não pudesse vê-lo.
— Estarei lá ao meio-dia — disse apressadamente, tratando de ocultar a emoção. — Carinhos a todos. — Cortou a comunicação antes que ela pudesse responder e se reclinou contra o estofamento com um suspiro de alívio. Quase impulsivamente, sem planejamento racional, tinha dado o primeiro passo para refazer sua vida. Havia perdido os filhos, mas a ponte entre as gerações permanecia intacta. Embora não fizesse outra coisa, devia cuidar e fortalecer essa ponte nos meses que restavam.
Levar dois meninos buliçosos e inquisitivos através do edifício de história natural não era o que o doutor lhe teria aconselhado, mas era o que ele queria fazer. Joey e Susan tinham crescido muito desde seu último encontro e fazia falta rapidez física e mental para segui-los. Assim que entraram na rotunda, escaparam dele, correndo para o enorme elefante que dominava o vestíbulo de mármore.
— O que é isso? — perguntou Joey.
— É um elefante, estúpido! — respondeu Susan, com a entristecedora superioridade de seus sete anos.
—Já sei que é um elefante — replicou Joey. — Mas como se chama?
O senador Steelman examinou o letreiro, mas não encontrou nenhuma ajuda. Em uma ocasião como esta, o temerário refrão “Equivocado às vezes, indeciso nunca”, era uma segura guia de conduta.
— Chamava-se, ahn, Jumbo — disse apressadamente. —Olhe essas presas!
— Alguma vez ele tinha dor de dente?
— Oh, não.
— Então como e limpava os dentes? Mamãe diz que se eu não limpar os meus...
Steelman viu aonde levava este raciocínio, e pensou que era melhor mudar de tema.
— Há muito mais para ver dentro. Por onde querem começar: pássaros, víboras, peixes, mamíferos?
— Víboras! — gritou Susan. — Eu queria ter uma em uma caixa, mas papai disse que não. Acha que ele mudaria de ideia se você pedisse?
— O que é um mamífero? — perguntou Joey, antes que Steelman pudesse pensar em uma resposta.
— Venham comigo — disse o senador firmemente. — Lhes mostrarei.
Enquanto caminhavam pelos corredores e as galerias, os meninos lançando-se de uma seção à outra, sentiu-se em paz com o mundo. Não havia nada como um museu para acalmar a mente, para ver os problemas da vida cotidiana em sua real perspectiva. Aqui, rodeado pelas maravilhas e a infinita variedade da Natureza, recordou verdades que tinha esquecido. Era só uma criatura em um milhão de milhões que compartilhavam este planeta Terra. Toda a raça humana, com suas esperanças e medos, seus triunfos e loucuras, poderia não ser mais que um incidente na história do mundo. De pé frente aos monstruosos ossos do Diplodocus (por uma vez os meninos se calaram e olharam com assombrado respeito) sentiu que os ventos da Eternidade sopravam através da sua alma. Já não podia levar tão a sério as ambições, nem a crença que ele era o homem que a nação necessitava. Que nação, depois de tudo? Neste verão se cumpriria tão somente dois séculos da assinatura da Declaração de Independência; mas este velho norte-americano tinha descansado nas rochas de Utah durante cem milhões de anos... Quando chegaram à Sala de Vida Oceânica, com sua dramática advertência do fato que a Terra ainda possuía animais maiores dos que podia mostrar o passado, o senador Steelman estava cansado. A baleia azul de trinta metros mergulhando no oceano e os outros velozes caçadores do mar, recordaram-lhe as horas que tinha passado na pequena coberta reluzente, sob uma ondulante vela branca. Também nessa época tinha conhecido a alegria, quando a água golpeava a proa, e o vento suspirava entre os arranjos. Fazia trinta anos que não navegava: esse era outro dos prazeres terrestres que tinha abandonado.
— Eu não gosto dos peixes — se queixou Susan. — Quando chegamos às víboras?
— Logo — disse Steelman. — Mas que pressa tem? Há muito tempo.
As palavras lhe escaparam sem dar-se conta. Moderou seus passos, enquanto os meninos corriam adiante. Então sorriu, sem amargura. Em certo sentido era verdade. Havia muito tempo. Usados corretamente, cada dia, cada hora, podiam ser um universo de experiências. Nas últimas semanas de sua vida começaria a viver.
No momento ninguém suspeitava nada no escritório. Seu passeio com os meninos não tinha provocado muita surpresa; já tinha feito coisas parecidas, cancelando entrevistas repentinamente e deixando que seu pessoal as arrumasse. Seu comportamento não tinha mudado ainda, mas em poucos dias seria evidente que algo tinha se passado. Tinha o dever, com eles e com a família, de lhes dar a notícia o mais cedo possível; entretanto, devia tomar primeiro muitas decisões pessoais.
Tinha outra razão para duvidar. Durante sua carreira raras vezes tinha perdido uma briga, e nas estocadas e ataques da vida política não tinha dado quartel. Agora, enfrentando esta derrota definitiva, temia a compaixão e as condolências de seus muitos inimigos. Sabia que essa atitude era tola; um vestígio de seu teimoso orgulho, parte muito importante de sua personalidade para desaparecer até ante a sombra da morte.
Levou o segredo, do comitê à Casa Branca e ao Capitólio, e através de todos os labirintos da sociedade de Washington, durante mais de duas semanas. Foi a melhor atuação de sua carreira, mas não havia quem pudesse apreciá-la. Ao cabo desse tempo havia completado seu plano de ação; só ficavam por despachar umas poucas cartas escritas de sua própria mão, e chamar sua mulher.
O escritório a localizou, não sem dificuldades, em Roma. Ainda era bela, pensou, quando apareceu na tela; teria sido uma excelente Primeira Dama e isso compensaria os anos perdidos. Tinha-lhe parecido que ela desejava essa posição, mas seriamente tinha compreendido alguma vez o que ela queria?
— Olá, Martín — disse ela. — Esperava suas notícias. Suponho que quer que eu volte.
— Estaria disposta? — perguntou Steelman, brandamente. A doçura de sua voz obviamente a surpreendeu.
— Seria uma parva se me negasse, não é assim? Mas se não o escolherem, quero seguir meu caminho.
— Não me escolherão. Nem sequer apresentarão minha candidatura. É primeira a sabê-lo, Diana. Em seis meses estarei morto.
A franqueza era brutal, mas tinha um objetivo. A fração de segundo que demoraram as ondas de rádio em chegar até os satélites de comunicação e voltar para a Terra nunca pareceu tão longa. Por uma vez tinha transpassado a bela máscara. Os olhos da mulher se abriram com incredulidade; e sua mão voou aos lábios.
— Está brincando!
— Com isto? É a verdade. Meu coração está esgotado. O doutor Jordan me disse isso faz um par de semanas. É minha culpa, é obvio, mas não falemos disso.
— E por isso estiveste passeando com os meninos; perguntava-me o que teria se passado.
Teria que ter adivinhado que Irene falaria com a mãe dela. Era uma vergonha para o Martin Steelman que um fato tão simples como mostrar interesse em seus próprios netos pudesse causar curiosidade.
—Sim — admitiu com franqueza. — Temo que posterguei muito. Agora estou tratando de recuperar o tempo perdido. Nenhuma outra coisa parece importante.
Em silêncio, olharam-se aos olhos através da curva terrestre, e através do deserto dos anos que os separavam. Então Diana respondeu, um tanto rápido demais:
— Começarei a empacotar as coisas imediatamente.
Steelman se sentia muito aliviado agora que já se sabia a notícia. A compaixão de seus inimigos não era tão dura de aceitar como tinha temido, já que da noite para o dia tinha deixado de ter inimigos. Homens que não lhe tinham falado em anos, exceto para injuriá-lo, enviaram mensagens de indubitável sinceridade. Velhas brigas se evaporaram, ou resultaram estar fundadas em mal-entendidos. Era uma pena ter que morrer para aprender essas coisas...
Também aprendeu que, para um homem público, morrer era um trabalho exaustivo. Teria que nomear sucessores, esclarecer confusões legais e financeiras, concluir assuntos de estado e partidários. O trabalho de uma vida enérgica não podia terminar repentinamente, como uma luz elétrica que se apaga. Era assombrosa a quantidade de responsabilidades que tinha contraído, e era difícil desligar-se delas. Nunca lhe tinha sido fácil delegar o poder (um defeito fatal, haviam dito muitos críticos, em um homem que desejava ser Chefe do Executivo), mas agora tinha que fazê-lo, antes que lhe escapasse para sempre das mãos.
Era como se estivesse acabando a corda de um grande relógio e não houvesse ninguém para dá-la de novo. Enquanto dava de presente seus livros, lia e destruía velhas cartas, fechava contas e arquivos imprestáveis, ditava instruções finais e escrevia notas de despedida, tinha às vezes uma sensação de completa irrealidade. Não sentia dor; nunca teria adivinhado que não restavam anos de vida ativa pela frente. Somente umas poucas linhas em um cardiograma se interpunham entre ele e seu futuro, como um gigantesco obstáculo. Ou como uma maldição, escrita em uma linguagem estranha que só os médicos podiam ler.
Agora, Diana, Irene ou seu marido, levavam os meninos para vê-lo quase todos os dias. No passado nunca se havia sentido confortável com o Bill, mas isso, sabia, tinha sido culpa dele Não podia esperar que um genro substituísse a um filho, e era injusto culpar Bill por não ser feito à imagem de Martin Steelman, filho. Bill tinha sua própria personalidade; tinha cuidado de Irene, tinha-a feito feliz, e era um bom pai para seus filhos. Que carecesse de ambição era um defeito, se seriamente o podia chamar assim, que o senador estava disposto a perdoar.
Podia pensar inclusive, sem dor nem amargura, em seu próprio filho, que tinha transitado por este caminho antes que ele, e que agora jazia, uma cruz entre muitas, no cemitério das Nações Unidas da Cidade do Cabo. Nunca tinha visitado a tumba do Martin; quando teve tempo, os homens brancos não eram populares no que restava da África do Sul. Agora, se o desejasse, podia ir, mas não sabia se seria justo atormentar Diana com semelhante missão. Suas próprias recordações não o incomodariam por muito tempo mais, mas ela ficaria com os seus.
Entretanto teria gostado de ir e pensava que esse era seu dever. Mais ainda, seria um último obséquio para os meninos. Para eles seriam tão somente férias em um país estranho, sem tristeza por um tio que nunca haviam conhecido. Steelman tinha começado a fazer os preparativos quando, pela segunda vez em um mês, o mundo se transtornou.
Até agora, quando chegava ao escritório todas as manhãs, esperava-o uma dúzia de visitantes ou mais. Entretanto, nunca tinha imaginado que o doutor Harkness estivesse entre eles.
A vista daquela figura magra, alta, fez com que se detesse momentaneamente. As faces se ruborizaram e o pulso se acelerou ao recordar antigas batalhas através das mesas das comissões, as palavras iradas que tinham ressonado nos inumeráveis canais do éter. Logo se acalmou; no que tocava a ele, tudo isso tinha terminado.
Quando o senador se aproximou, Harkness se levantou algo vacilante. O senador Steelman já conhecia essa confusão inicial: tinha-a visto tantas vezes nas últimas semanas... Todos aqueles que encontrava estavam automaticamente em desvantagem, sempre alerta para evitar o tema tabu.
— Doutor! — disse. — Que surpresa! Não esperava vê-lo por aqui.
Não pôde resistir a essa pequena ironia e lhe agradou que alcançasse seu objetivo. Mas o disse sem amargura, como o reconheceu o sorriso de Harkness.
— Senador — respondeu Harkness, em voz tão baixa que Steelman teve que inclinar-se para frente para ouvi-lo. — Tenho uma informação muito importante para você. Poderíamos falar a sós por uns minutos? Não levará muito tempo.
Steelman assentiu; agora tinha suas próprias idéias sobre o que era importante e só sentia uma leve curiosidade pela visita do cientista. O homem parecia haver mudado muito desde seu último encontro, sete anos antes. O via muito mais seguro de si mesmo; tinha perdido as nervosas afetações que o tinham convertido em uma testemunha tão pouco convincente.
— Senador — começou, quando estavam sozinhos no escritório particular — tenho uma notícia que pode comovê-lo bastante. Acredito que você pode ser curado.
Steelman afundou pesadamente na poltrona. Isto era algo que nunca tinha esperado; desde o começo tinha prescindido das esperanças vãs. Só um louco lutava contra o inevitável e ele tinha aceitado seu destino.
Durante um momento não pôde falar; depois olhou para o antigo adversário e ofegou:
— Quem lhe disse isso? Todos os meus médicos...
— Não acredite neles; não têm culpa de estarem dez anos atrasados. Olhe isto.
— O que significa? Não leio russo.
— É o último número da Revista de Medicina Espacial da URSS. Chegou faz uns poucos dias e fizemos a costumeira tradução de rotina. Esta nota aqui, a que marquei, refere-se a um recente trabalho na Estação Mechnikov.
— O que é isso?
— Não sabe? É o Hospital Satélite dos russos, que construíram debaixo do Grande Cinturão de Radiação.
— Continue — disse Steelman, com voz seca e dura. — Tinha esquecido que a chamavam assim.
Tinha desejado terminar a vida em paz, mas agora o passado voltava a persegui-lo.
— Bom, a nota em si não diz muito, mas se pode ler bastante nas entrelinhas. É uma dessas insinuações que os cientistas lançam quando não têm tempo para escrever um artigo documentado e para poder logo reclamar a prioridade. O título é: “Efeitos terapêuticos da falta de gravidade sobre as enfermidades circulatórias.” Provocaram a enfermidade artificialmente em coelhos e ratos brancos, e depois os levaram à estação espacial. Em órbita, é obvio nada tem peso; o coração e os músculos quase não trabalham e o resultado é exatamente o que tratei de lhe explicar, anos atrás. Inclusive se podem retardar casos extremos, e muitos podem ser curados.
O pequeno escritório que fora centro de seu mundo, cena de tantas conferências, berço de tantos planos, tornou-se repentinamente irreal. As lembranças eram mais vívidas: retornava àquelas audiências, no outono de 1969, quando se revisava e, freqüentemente, se criticava com dureza, a primeira década da Administração Nacional da Aeronáutica e o Espaço.
Nunca tinha sido presidente da Comissão Senatorial de Astronáutica, mas sim seu membro mais vocal e efetivo. Ali tinha feito sua reputação de guardião do orçamento público, de homem duro que não podia ser enganado pelas utopias de cientistas sonhadores. Tinha sido um bom trabalho; desde esse momento nunca tinha estado afastado dos titulares. Não era que estivesse predisposto a favor ou contra o espaço e a ciência, mas sabia distinguir um assunto candente quando o via. Como se de repente um gravador se pusesse a funcionar em sua mente, tudo voltou...
— Doutor Harkness, você é o Diretor Técnico da Administração Nacional para a Aeronáutica e o Espaço?
— Assim é.
— Tenho aqui as cifras dos gastos da NASA durante o período 1959-69; são impressionantes. Até agora o total é de oitenta e dois bilhões, quinhentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinqüenta mil dólares; e o cálculo para o ano fiscal 69-70 ultrapassa os dez mil milhões. Possivelmente você possa nos dar alguma indicação dos benefícios que podemos esperar disto.
— Com muito prazer, senador.
Assim tinha começado, em um tom firme, mas não hostil. A hostilidade veio logo. Já então soube que era injustificada; toda grande organização tinha debilidades e enguiços, e uma que literalmente apontava às estrelas jamais podia esperar nada a não ser um êxito parcial. Desde o começo se soube que a conquista do espaço seria pelo menos tão custosa em vidas e dinheiro como a conquista do ar. Em dez anos tinham morrido pelo menos uma centena de homens: na Terra, no espaço, e sobre a árida superfície da Lua. Agora que a urgência dos anos sessenta tinha passado, as pessoas perguntavam “por que?”. Steelman era suficientemente ardiloso para ver a si mesmo como o porta-voz dessa interrogação. Sua atuação tinha sido fria e calculada; era conveniente ter uma vítima propícia e o doutor Harkness teve a desgraça de receber esse papel.
— Sim, doutor, compreendo os benefícios da investigação espacial, que nos chegaram na forma de melhores comunicações e prognósticos meteorológicos, e estou seguro que todos os apreciam. Mas quase todo esse trabalho foi realizado com veículos automáticos, não tripulados. O que me preocupa, o que preocupa a muita gente, são os crescentes gastos do programa Homem no Espaço, e sua tão secundária utilidade. Dos projetos Dyna-Soar e Apolo, faz quase uma década, disparamos ao espaço milhares de milhões de dólares. E com o que resultado? Que um simples punhado de homens possa passar umas poucas e incômodas horas fora da atmosfera, sem obter nada que não possa ser obtido melhor e mais economicamente por câmaras de televisão e equipes automáticas. E as vidas que se perderam! Nenhum de nós esquecerá os gritos que ouvimos pelo rádio quando o X-21 se queimou ao reingressar na atmosfera. Que direito temos a enviar homens a mortes semelhantes?
Ainda recordava o silêncio da câmera quando terminou de falar. Suas perguntas eram muito razoáveis, e mereciam ser respondidas. O injusto era a forma retórica de sua exposição e, sobretudo, que estivessem dirigidas a um homem que não podia respondê-la adequadamente. Steelman não teria utilizado essas táticas com um Von Braun ou um Rickover; eles lhe teriam pagado na mesma moeda. Mas Harkness não era um orador; se tinha sentimentos profundamente arraigados, os guardava para si. Era um bom cientista, um administrador capaz... e uma testemunha desastrosa. Tinha sido como matar peixes em um barril. Os jornalistas estavam encantados; nunca soube qual deles inventou o apelido “Harkness, o Desventurado”.
— Doutor, esse seu plano para um laboratório espacial com uma capacidade para cinqüenta homens, quanto disse que custaria?
— Quase mil e quinhentos milhões de dólares.
— E a manutenção anual?
— Não mais de duzentos e cinqüenta milhões.
— Quando consideramos o que aconteceu com os cálculos prévios, você nos perdoará se virmos estas cifras com certo ceticismo. Mas ainda caso que você tivesse razão: O que obteremos em troca do dinheiro?
— Poderemos estabelecer nossa primeira estação espacial de investigação em grande escala. Até agora tivemos que experimentar com muito pouco espaço, em veículos inadequados, geralmente quando estavam ocupados em outra missão. Um laboratório satélite permanente, tripulado, é essencial. Sem ele, o progresso é impossível. A astrobiología não pode começar...
— Astro o que?
— Astrobiología, o estudo de organismos vivos no espaço. Os russos a iniciaram ao enviar a cadela Laika no Sputnik II, e ainda levam vantagem nesse campo. Mas ninguém tem feito trabalhos sérios com insetos ou invertebrados; na realidade em nenhum animal exceto cães, ratos e coelhos.
— Entendo. Equivocar-me-ia se dissesse que você quer recursos para construir um zoológico espacial?
A risada na sala do comitê tinha ajudado a matar o projeto. E tinha ajudado a matá-lo, compreendia agora o senador Steelman.
Só podia culpar a si mesmo, pois o doutor Harkness tinha tratado, inutilmente, de sublinhar os benéficos resultados que produziria um laboratório espacial. Tinha enfatizado, sobretudo os aspectos médicos, sem prometer nada, mas assinalando possibilidades. Tinha sugerido que os cirurgiões poderiam desenvolver técnicas novas em um meio no qual os órgãos não tinham peso; os homens poderiam viver mais tempo, liberados da deterioração e esgotamento provocados pela gravidade, já que o esforço do coração e dos músculos se veria enormemente reduzido. Sim, tinha mencionado o coração; mas isso não havia interessado ao Steelman saudável e ambicioso, e ávido de fama...
— Por que veio me dizer isso? — disse lentamente o senador. — Não poderia me deixar morrer em paz?
— Precisamente — disse Harkness com impaciência. — Não terá que abandonar a esperança.
— Porque os russos curaram alguns ratos brancos e coelhos?
— Fizeram muito mais que isso. O estudo que lhe mostrei só citava os resultados preliminares; já está um ano atrasado. Não querem despertar falsas esperanças, assim o guardam no maior silêncio possível.
— Como você sabe?
Harkness pareceu surpreso.
— Chamei o Professor Stanyukovitch, meu igual hierárquico. Aconteceu que ele estava lá em cima, na Estação Mechnikov, o que prova a importância de seus trabalhos. É um velho amigo meu e tive o atrevimento de mencionar o seu caso.
O começo da esperança, quando esteve ausente um longo tempo, pode ser tão doloroso como seu desaparecimento. Steelman custou a respirar e, por um espantoso instante, se perguntou se teria chegado o ataque final. Mas era tão somente a excitação; a opressão do peito se afrouxou, o zumbido de seus ouvidos desapareceu e escutou a voz do doutor Harkness que dizia:
— Ele queria saber se você poderia ir ao Astrogrado imediatamente; disse-lhe que lhe perguntaria. Se puder, há um vôo que sai de Nova Iorque amanhã às dez e trinta.
Tinha prometido aos meninos levá-los ao zoológico ao dia seguinte; seria a primeira vez em lhes falharia. Esse pensamento lhe provocou um agudo sentimento de culpa e teve que fazer um esforço de vontade para responder.
— Sim, posso.
Não viu nada de Moscou durante os poucos minutos que o grande jato demorou a descer da estratosfera. Durante a descida apagavam as telas: a vista do chão subindo, enquanto a nave caía verticalmente sobre os reatores, era muito desconcertante para os passageiros.
Em Moscou se transladou a um avião cômodo, mas de antiquado motor a turbo-hélice e, enquanto voava para o leste, internando-se na noite, teve a primeira oportunidade autêntica de refletir. Era muito estranho fazer a si mesmo essa pergunta, mas..., estava seriamente contente porque o futuro não era mais algo completamente determinado? Sua vida, que até umas poucas horas tinha parecido tão simples, voltava a ser complexa, ao abrirem-se uma vez mais as possibilidades que tinha aprendido a descartar. O doutor Johnson tinha tido razão quando disse que nada acalma mais a mente de um homem que a certeza do fato que vai ser enforcado pela manhã. O inverso era certo, sem dúvida: nada a transtornava mais que o pensamento que a execução seria adiada.
Estava dormindo quando aterrissaram em Astrogrado, a capital espacial da URSS. Quando o suave impacto da aterrissagem o sacudiu, despertando-o, durante um momento não compreendeu onde estava. Tinha sonhado que voava através do mundo em busca da vida? Não; não era um sonho, mas bem podia ser um empreendimento quimérico.
Doze horas mais tarde seguia esperando a resposta. Já lhe tinham tomado as últimas análises; as manchas de luz no cardiógrafo cessaram sua funesta dança. A familiar rotina do exame médico e as vozes suaves e competentes dos doutores e as enfermeiras, ajudaram a tranqüilizá-lo. E a sala de recepção, onde os especialistas lhe pediram que esperasse enquanto conferenciavam, era muito tranqüila, tenuemente iluminada. Só as revistas russas e os retratos de hirsutos pioneiros da medicina soviética, recordavam-lhe que já não estava em sua pátria.
Não era o único paciente. Havia perto de uma dúzia de homens e mulheres de todas as idades, sentados, lendo revistas e tratando de parecer confortáveis. Ninguém conversava, nem tentava cruzar um olhar. Nesse quarto, cada ser estava em seu limbo privado, suspenso entre a vida e a morte. Embora ligados por uma desventura comum, o vínculo não se estendia a comunicação. Cada um parecia tão separado do resto da espécie humana como se já estivesse voando através dos abismos cósmicos, onde estava sua única esperança.
Mas no canto do fundo da sala havia uma exceção. Um casal jovem, nenhum dos dois teria mais de vinte e cinco anos, se abraçava com tanto dor e desespero que, no princípio, Steelman se sentiu envergonhado. Por terríveis que fossem seus problemas, disse-se severamente, as pessoas deveriam ter mais consideração. Deveriam esconder as emoções, especialmente em um lugar como esse, onde podiam perturbar a outros.
O amuo do Steelman logo se converteu em piedade, pois nenhum coração pode permanecer impassível durante longo tempo diante de um amor puro e abnegado, afundado na desgraça. À medida que passavam os minutos, em um silêncio quebrado só pelo rangido de papéis e o roçar de cadeiras, sua piedade cresceu até converter-se quase em obsessão.
Qual seria a história do casal? O moço tinha traços delicados, inteligentes: podia ser um artista, um cientista, um músico... não havia forma de adivinhá-lo. A moça estava grávida; tinha um desses rostos simples, de camponesa, tão comuns nas mulheres russas. Estava longe de ser bela, mas a tristeza e o amor davam a seus traços uma doçura luminosa. Steelman custou a afastar os olhos dela, já que de alguma forma, embora não existisse a menor semelhança física, recordava Diana. Trinta anos atrás, quando saíam juntos da igreja, viu o mesmo brilho nos olhos de sua mulher. Quase tinha esquecido; teria sido culpa dele ou dela que se desvanecesse tão rápido?
Sem aviso prévio sua cadeira vibrou. Um rápido e súbito tremor percorreu o edifício, como se um gigantesco martelo tivesse golpeado o chão, a muitos quilômetros de distância. Um terremoto?, pensou Steelman; logo recordou onde estava, e começou a contar os segundos.
Quando chegou a sessenta, deixou de contar; possivelmente o isolamento acústico era tão bom que o ruído não chegava a ele e só a onda expansiva que sacudira o edifício indicava que mil toneladas acabavam de saltar ao espaço. Passou outro minuto e então ouviu um som longínquo, mas nítido, como o de uma tormenta elétrica rugindo sob a borda do mundo. O som vinha de muito mais longe do que tinha sonhado; o ruído na pista de lançamento devia superar toda a imaginação.
Sabia, não obstante, que esse trovão não o incomodaria quando ele também subisse ao céu; o veloz foguete o deixaria muito atrás. Tampouco o impulso da aceleração lhe tocaria o corpo, que descansaria em uma banheira de água quente, mais cômodo ainda que esta fofa poltrona.
O estrondo longínquo chegava ainda do espaço quando se abriu a porta da sala de espera e a enfermeira lhe fez gestos. Embora sentisse que muitos olhos o seguiam, não olhou atrás quando saiu para receber a sentença.
Os serviços de imprensa trataram de ficar em contato com ele durante toda sua viagem de volta desde o Moscou, mas se negou a aceitar as chamadas.
— Digam que durmo e não devo ser incomodado — disse à aeromoça. Perguntou-se quem os teria informado e se sentiu molestado ante essa invasão de sua vida privada. Entretanto, tinha evitado durante anos o isolamento e só nas últimas semanas tinha começado a apreciá-lo. Não podia culpar os jornalistas e comentaristas por supor que era o mesmo de antes.
Quando o jato aterrissou em Washington o estavam esperando. Conhecia-os quase todos pelo nome, e alguns eram velhos amigos, sinceramente contentes pela notícia que tinha chegado antes que ele.
— Como se sente, senador — disse Macauley, do Times, ao saber que volta para a atividade? É certo que os russos podem curá-lo?
— Acreditam que podem — respondeu prudentemente. — Este é um novo campo da medicina e ninguém pode prometer nada.
— Quando irá ao espaço?
— Esta semana, assim que tenha arrumado alguns assuntos aqui.
— E quando estará de volta... se tudo andar bem?
— É difícil dizê-lo. Mesmo que tudo saia bem, estarei lá em cima pelo menos seis meses.
Involuntariamente o senador olhou o céu. Na alvorada ou no crepúsculo, mesmo durante o dia, se se sabia onde olhar, a estação Mechnikov constituía uma vista espetacular, mais brilhante que qualquer das estrelas. Mas agora havia tantos satélites com essas características que só um perito podia distinguir um de outro.
— Seis meses — disse um jornalista — Isso provavelmente significa que você não se apresentará às eleições de setenta e seis.
— Mas sim às de 1980 — disse outro.
— E às de 1984 — acrescentou um terceiro.
A risada foi general; as pessoas já faziam brincadeiras com respeito a 1984, que uma vez tinha parecido tão longínquo no futuro, mas que logo seria uma data igual a qualquer outra... ao menos assim o esperavam.
Ouvidos e microfones aguardavam a resposta do senador. Steelman, ao pé da escada, outra vez foco da atenção e da curiosidade, sentiu que a velha excitação lhe corria pelas veias. Que volta formidável, voltar do espaço como um homem novo! Dar-lhe-ia um encanto que nenhum outro candidato poderia igualar; havia algo olímpico, quase divino, nessa perspectiva. Já se surpreendeu tratando de introduzi-la em ordens eleitorais...
— Me dêem vocês tempo para fazer meus planos — disse. — Demorarei um pouco a me acostumar a isto. Mas lhes prometo uma declaração antes de abandonar a Terra.
“Antes de abandonar a Terra.” Uma frase adequada e dramática. Ainda saboreava seu ritmo mentalmente quando viu Diana que se aproximava dos edifícios do aeroporto.
Ela já tinha mudado, como ele mesmo estava mudando; essa cautela e essa reserva nos olhos de Diana não tinham estado ali dois dias antes. Diziam, tão claramente como palavras: “vai acontecer tudo de novo?” Embora fosse um dia caloroso, sentiu de repente um calafrio, como se tivesse pescado um esfriamento naqueles longínquos estepes siberianos.
Mas Joey e Susan não tinham mudado quando correram a saudá-lo. Elevou-os nos braços e afundou o rosto nos seus cabelos, para que as câmeras não pudessem ver suas lágrimas. Enquanto os meninos se pegavam a ele com o amor generoso e inocente da infância, soube qual teria que ser sua escolha.
Só eles o tinham conhecido livre da ambição de poder; assim deviam recordá-lo, se alguma vez o recordassem.
— Sua conferência, senhor Steelman — disse a secretária. — Em sua tela privada.
Steelman deu a volta em sua poltrona giratória e olhou para o painel cinza da parede. O painel se dividiu em duas seções verticais. No lado direito se via um escritório muito parecido com o seu e a só uns poucos quilômetros de distância. Mas no esquerdo...
O professor Stanyukovitch, vestido com roupas leves, calça curta e camiseta, flutuava no ar, a trinta centímetros do assento. Quando viu que tinha companhia, se agarrou nele com uma mão, baixou e se prendeu com um cinturão. Atrás do professor havia fileiras de equipes de comunicação; e atrás das equipes, Steelman sabia, estava o espaço.
O doutor Harkness falou primeiro, da tela direita.
— Estávamos esperando notícias suas, senador. O professor Stanyukovitch me disse que tudo está preparado.
— A próxima nave de abastecimento — disse o russo — subirá em dois dias. Levar-me-á de volta à Terra, mas espero vê-lo antes de deixar a estação.
A voz do professor Stanyukovitch era curiosamente aguda, devido à tênue atmosfera de oxihélio que respirava. Além disso, não se sentia a distância, nem havia interferências. Embora o professor estivesse a milhares de quilômetros, e voando no espaço a seis quilômetros por segundo, poderia ter estado no mesmo escritório. Steelman ouvia inclusive os motores elétricos da equipe atrás de Stanyukovitch.
— Professor — respondeu Steelman. — queria lhe fazer algumas perguntas antes de ir.
—É claro.
Agora se notava que Stanyukovitch estava muito longe. Houve um considerável tempo de espera antes que chegasse a resposta; a estação devia estar sobre o outro lado da Terra.
— Em Astrogrado vi muitos outros pacientes na clínica. Estive me perguntando sobre que base vocês selecionam s a quem será tratado.
Desta vez a pausa foi muito maior que a devida à lentidão das ondas radiais. Então Stanyukovitch respondeu:
— Bom, os que têm maior probabilidade de cura.
— Mas o serviço deve ser muito limitado. Certamente têm muitos outros candidatos além de mim mesmo.
— Não entendo bem — interrompeu o doutor Harkness, bastante impaciente.
Steelman olhou a tela direita. Era bastante difícil reconhecer no homem que o observava a testemunha que se retorcera sob seu aguilhão. A experiência tinha temperado Harkness, tinha-o batizado na arte da política. Steelman lhe tinha ensinado muito e ele tinha aplicado esses conhecimentos tão duramente ganhos.
Os motivos do Harkness tinham sido óbvios desde o começo. Não teria sido humano se não saboreasse essa muito doce vingança, essa triunfante reivindicação de sua fé. E como Diretor de Administração Espacial sabia muito bem que a metade de suas lutas que pressupunha estaria ganha quando todo mundo soubesse que um possível Presidente dos Estados Unidos estava em um hospital espacial russo... porque seu próprio país não tinha um.
— Doutor Harkness — disse Steelman brandamente — este é meu problema. Estou esperando sua resposta, professor.
Apesar do tema, gozava da situação. Os dois cientistas, é obvio, compartilhavam os mesmos interesses. Stanyukovitch também tinha seus problemas; Steelman podia adivinhar as discussões em Astrogrado e em Moscou, e a avidez com que os astronautas soviéticos tinham aproveitado essa oportunidade. Oportunidade que, deve admitir-se, tinham ganhado com acréscimo.
Era uma situação irônica, impossível de imaginar doze anos antes.
Ali estavam a NASA e a Comissão de Astronáutica da URSS trabalhando juntas, usando a ele como um peão para um mútuo benefício. Não se sentia ofendido, pois em seu lugar ele teria feito o mesmo. Mas não queria ser um peão; era um indivíduo que ainda tinha certo controle sobre seu próprio destino.
— É muito certo — disse Stanyukovitch — que aqui no Mechnikov só podemos trazer um número limitado de pacientes. Em todo caso, a estação é um laboratório de investigação, não um hospital.
— Quantos? — perguntou Steelman implacavelmente.
— Bom... menos de dez — admitiu Stanyukovitch de muito má vontade.
Esse era um velho problema, é obvio, embora nunca tivesse imaginado que se apresentaria a ele. Recordou um artigo jornalístico de muito tempo atrás. Quando acabavam de descobri-la, a penicilina era tão escassa que, se tanto Churchill como Roosevelt a houvessem necessitado para salvar suas vidas, só poderiam tratar a um deles...
Menos de dez. Tinha visto uma dúzia esperando em Astrogrado. E quantos mais havia em todo mundo? Outra vez, como lhe tinha ocorrido tão freqüentemente nos últimos dias, voltou a persegui-lo a lembrança daqueles amantes desesperados na clínica. Possivelmente não pudesse ajudá-los; nunca saberia.
Mas sabia uma coisa. Tinha uma responsabilidade à qual não podia escapar. Era certo que nenhum homem podia prever o futuro, nem as conseqüências de suas ações. Entretanto, se não tivesse sido por ele, seu próprio país já poderia ter um hospital espacial dando voltas além da atmosfera. Quantas vidas norte-americanas pesavam sobre sua consciência? Ele podia aceitar a ajuda que tinha negado a outros? Em outra época o teria feito; mas agora não.
— Cavalheiros — disse — posso falar francamente com ambos, porque sei que seus interesses são idênticos. — Viu que sua ligeira ironia não lhes escapava. — Agradeço a ajuda e as medidas que tomaram; lamento que tudo isso tenha se desperdiçado. Não, não protestem; esta não é uma decisão repentina e quixotesca de minha parte. Penso que esta oportunidade deve ser dada a outra pessoa; especialmente em vista de meus antecedentes. — Olhou o doutor Harkness, que sorriu incomodado. — Também tenho outras razões, de caráter pessoal, e não é possível que mude de parecer. Por favor, não me acreditem grosseiro ou ingrato, mas não desejo discutir mais este assunto. Outra vez obrigado, e adeus.
Cortou a comunicação e enquanto se desvanecia a imagem dos dois surpreendidos cientistas, a paz voltou ao seu espírito.
Imperceptivelmente, a primavera se fundiu com o verão. As esperadas celebrações do Bicentenário chegaram e se foram; pela primeira vez em anos gozou o Dia da Independência como um cidadão qualquer. Agora podia sentar-se e ver como atuavam os outros; ou ignorá-los, se assim o desejava.
Como os vínculos de toda uma vida eram muito fortes para rompê-los, e porque seria a última oportunidade de ver muitos velhos amigos, passou horas visitando ambas as convenções e escutando aos comentaristas. Agora que via todo mundo sob a luz da Eternidade, suas emoções já não estavam em jogo; compreendia os problemas, julgava as discussões, porém se sentia já tão afastado como um visitante de outro planeta. As pequenas figuras que gritavam na janela eram divertidas marionetes, que representavam uma obra interessante, mas que já não era importante. Pelo menos para ele.
Mas era importante para os netos, que algum dia se moveriam no mesmo cenário. Não esquecia isso; eles eram sua participação no futuro, qualquer que fosse a estranha forma que este pudesse tomar. E para compreender o futuro era necessário conhecer o passado.
Agora os estava levando a esse passado, enquanto o automóvel corria pelo Memorial Drive. Diana ia ao volante, com Irene ao lado, enquanto ele, sentado com os meninos, assinalava os lugares conhecidos ao longo da auto-estrada. Conhecidos para ele, mas não para eles; embora não fossem suficientemente grandes para compreender tudo o que viam, esperava que recordassem.
O automóvel passeou brandamente na marmórea quietude de Arlington (outra vez pensou em Martin, dormindo do outro lado do mundo) e subiu as colinas sem esforço. Atrás deles, como uma cidade vista através de uma miragem, Washington dançava e tremia na bruma estival, até que a curva do caminho a ocultou.
Em Monte Vernon tudo estava tranqüilo; havia poucos visitantes nos princípios de semana. Enquanto deixavam o carro e caminhavam para a casa, Steelman se perguntou o que pensaria o primeiro Presidente dos Estados Unidos se pudesse ver agora sua casa. Jamais deve ter sonhado que entraria no segundo século perfeitamente conservada, ilha imutável no pressuroso rio do tempo.
Caminharam lentamente através dos quartos maravilhosamente proporcionados, tratando de responder o melhor possível às intermináveis pergunta dos meninos, de assimilar o estilo de um modo de vida imensamente mais simples, imensamente mais lento. (Mas teria parecido simples ou lento para aqueles que o viveram?) Era tão difícil imaginar um mundo sem eletricidade, sem rádio, sem outra energia que a dos músculos, do vento e da água... Um mundo no qual nada se movia mais rapidamente que um cavalo a galope, e a maioria dos homens morriam a poucos quilômetros do lugar onde tinham nascido.
O calor, a caminhada, e as perguntas incessantes demonstraram ser mais exaustivos do que Steelman tinha imaginado. Quando chegaram à Sala de Música decidiu descansar. No terraço havia uns atrativos bancos onde poderia sentar-se ao ar fresco, e dar de presente aos olhos a verde grama do prado.
— Busca-me aqui fora — explicou à Diana— quando tiver terminado com a cozinha e os estábulos. Eu gostaria de me sentar um momento.
— Encontra-te bem? — disse ela ansiosamente.
— Nunca me senti melhor, mas não quero exagerar. Além disso, os meninos me espremeram; não me ocorrem mais respostas. Terá que inventar algumas; de toda forma a cozinha é seu departamento.
Diana sorriu.
— Nunca fui muito boa nisso, não é certo? Mas farei o melhor que puder. Acredito que não nos levará mais de trinta minutos.
Quando o deixaram sozinho, o senador Steelman caminhou lentamente para o prado. Ali devia ter se detido Washington, dois séculos antes, a olhar como o Potomac serpenteando à volta do mar, pensando nas guerras passadas e nos futuros problemas. E ali Martin Steelman, trigésimo-oitavo Presidente dos Estados Unidos, poderia ter chegado a se deter uns poucos meses mais tarde, se o destino não tivesse querido outra coisa.
Não podia afirmar que não tinha remorsos, porém esses remorsos eram poucos. Alguns homens alcançavam o poder e a felicidade; ele nunca teria as duas coisas. Cedo ou tarde, a ambição o teria consumido. Nas últimas semanas tinha conhecido a satisfação, e para isso nenhum preço era muito alto.
Estava ainda maravilhando-se de como acabaria o seu tempo, quando a Morte caiu brandamente do céu do verão.
Problemas de Horário ou Crime em Marte
— Não há muitos crimes em Marte — disse o Detetive Inspetor Rawlings com um pouco de tristeza. — Na realidade, essa é a principal razão de minha volta para a Scotland Yard. Se ficasse mais tempo aqui, perderia a prática.
Estávamos sentados na principal sala de espera do Espaçoporto de Fobos, olhando os penhascos dentados e ensolarados da pequena lua. O foguete transportador que nos levaria de Marte havia partido fazia dez minutos e começava agora a prolongada queda de volta à esfera ocre que se pendurava lá fora contra as estrelas. Em meia hora subiríamos ao vôo regular para a Terra, um mundo no qual a maioria dos passageiros jamais tinha posto os pés, mas que seguiam chamando “nossa casa”.
— De toda forma — continuou o Inspetor — de vez em quando se apresenta um caso que faz a vida interessante. Você é um comerciante em objetos de arte, senhor Maccar; estou seguro que você ouviu falar do problema que houve em Cidade Meridiano faz um par de meses.
— Acredito que não — replicou o roliço homenzinho de cútis azeitonada que eu tinha tomado por um simples turista que voltava.
Possivelmente o Inspetor tivesse examinado já a lista de passageiros; perguntei-me quanto saberia de mim, e tratei de me repetir que tinha a consciência... bom, razoavelmente tranquila. Ao fim e ao cabo todos passavam algo pelas Alfândegas de Marte.
— Manteve-se bem em segredo — disse o Inspetor — mas estas coisas não podem ser ocultas comprido tempo. O caso é que um ladrão de jóias terrestre tentou roubar o maior tesouro do Museu Meridiano: a Deusa Sereia.
— Mas isso é absurdo! — objetei. — Tem um valor inestimável, é obvio, mas é somente um pedaço de arenito. Ninguém o compraria; seria o mesmo que tentar roubar a Mona Lisa.
O Inspetor sorriu sarcasticamente.
— Isso já aconteceu uma vez — disse. — Possivelmente o motivo fosse o mesmo. Há colecionadores que dariam uma fortuna por um objeto semelhante, mesmo que só eles pudessem olhá-lo. Não está você de acordo, senhor Maccar?
— É certo. Em meu negócio se encontra gente muito extravagante.
— Bom, este tipo, que se chamava Danny Weaver, tinha sido muito bem pago por um colecionador. E, a não ser por um golpe de fantástica má sorte, o teria conseguido.
A direção do Porto Espacial se desculpou por um novo atraso devido às últimas verificações de combustível e pediu a vários passageiros que se apresentassem à Informações. Enquanto esperávamos que o anúncio terminasse, recordei o pouco que sabia sobre a Deusa Sereia. Embora nunca tivesse visto o original, assim como a maioria dos outros turistas, tinha uma réplica em minha bagagem. Essa réplica levava o certificado do Departamento Marciano de Antiguidades, garantindo que “esta reprodução em escala natural é uma cópia exata da chamada Deusa Sereia, descoberta no Mare Sirenium pela Terceira Expedição, 2012 d. C. (A. M. 23)”.
É um objeto muito pequeno para ter causado tantas controvérsias. Mede só uns vinte centímetros de altura; ninguém o olharia duas vezes se o visse em um museu terrestre. Representa a cabeça de uma moça, de traços ligeiramente orientais, lóbulos alongados, cabelo em cachos apertados junto ao crânio, lábios um pouco separados em expressão de prazer ou surpresa. Isso é tudo. Mas é um enigma tão desconcertante que inspirou uma centena de seitas religiosas, e tem desesperado a mais de um arqueólogo. Pois uma cabeça humana perfeita não tem absolutamente nenhum direito de encontrar-se em Marte, onde os únicos habitantes inteligentes eram crustáceos, “lagostas marinhas educadas”, como gostam de chamá-las os periódicos. Os marcianos aborígenes nunca estiveram perto de obter vôos espaciais e, de todo modo, sua civilização morreu antes que o homem existisse na Terra. Não é estranho que a Deusa seja o mistério número um do Sistema Solar. Não acredito que encontremos a resposta enquanto eu viver... Se a encontrarmos alguma vez.
— O plano do Danny era muito simples — continuou o Inspetor. — Vocês sabem como fica morta uma cidade marciana no domingo. Tudo está fechado e os colonos permanecem em suas casas para ver a televisão transmitida da Terra. Danny contava com isso quando se instalou em um hotel de Meridiano Ocidental, na tarde da sexta-feira. Teria o sábado para inspecionar o Museu, o domingo para o trabalho e, na manhã da segunda-feira, seria simplesmente outro turista que deixava a cidade...
... no sábado cedo vagabundeou pelo pequeno parque e cruzou para Meridiano Oriental, aonde está o Museu. No caso que vocês não saibam, a cidade leva esse nome porque está exatamente na longitude de cento e oitenta graus; em uma grande laje de pedra do parque está gravado o meridiano principal, assim todos os visitantes podem tirar fotografias de pé sobre dois hemisférios ao mesmo tempo. É surpreendente como algumas pessoas se divertem com coisas tão simples. Danny passou o dia percorrendo o Museu, como qualquer outro turista resolvido a gastar seu dinheiro. Mas à hora do fechamento não saiu; escondeu-se em uma das galerias não abertas ao público, onde o Museu tinha estado fazendo uma reconstrução do Último Período dos Canais, ficando sem dinheiro antes de terminar. Danny ficou ali até perto de meia-noite, se por acaso ainda tivesse visitantes no edifício. Depois saiu e ficou a trabalhar.
— Um momento — interrompi. — E o faxineiro?
O Inspetor riu.
— Meu querido amigo! Em Marte não existem esses luxos. Nem sequer havia alarmes, pois, quem poderia pensar em roubar pedaços de pedra? É certo que a Deusa estava perfeitamente selada em uma resistente vitrine de vidro e metal, se por acaso algum caçador de lembranças se enrabichasse por ela. Mas, mesmo no caso que a roubasse, o ladrão não tinha onde esconder-se e logo que se notasse seu desaparecimento, seriam registradas todas as pessoas ao sair.
Isso era certo. Eu tinha pensado em termos terrestres, esquecendo que cada cidade marciana é um pequeno mundo fechado sob o campo magnético que a protege do vazio gelado. Além do amparo eletrônico, está a atmosfera marciana, vacuidade absolutamente hostil onde um homem desprotegido morreria em segundos. Isso facilita a observância da lei; não é estranho que haja tão poucos crimes em Marte...
— Danny tinha uma bela equipe de ferramentas, tão especializadas como as de um relojoeiro. O instrumento principal era uma microserra não maior que um soldador, onde uma bateria ultra-sônica impulsionava uma folha fina como uma linha, a um milhão de ciclos por segundo. Esta ferramenta atravessava o vidro ou o metal como se fossem de manteiga e produzia um corte fino como um cabelo, o que era muito importante para o Danny, já que não devia deixar rastros de sua manobra.
...Suponho que já adivinharam como pensava trabalhar. Ia cortar a vitrine pela base e substituir a Deusa real por uma dessas réplicas. Poderia passar um par de anos antes que algum perito curioso descobrisse a terrível verdade; muito antes, o original teria viajado à Terra, perfeitamente disfarçado como uma cópia de si mesmo, com um genuíno certificado de autenticidade. Bem pensado, não?
...Deve ter sido espantoso trabalhar na escura galeria com todas essas talhas de um milhão de anos e esses inexplicáveis artefatos ao redor. Um museu terrestre é desagradável de noite, mas pelo menos é... bom, humano. E a Galeria Três, que alberga a Deusa, é muito inquietante. Está cheia de baixos-relevos, que representam animais incríveis lutando entre eles; parecem escaravelhos gigantes e a maioria dos paleontologistas nega categoricamente que possam ter existido alguma vez. Mas, imaginários ou não, pertenciam a esse mundo e não perturbavam tanto Danny como a Deusa, que o olhava fixamente através dos séculos, desafiando-o a explicar sua presença. Dava-lhe calafrios. Como sei? Ele me disse isso.
...Danny ficou a trabalhar nessa vitrine com o cuidado de um entalhador de diamantes que se prepara para cortar uma gema. Levou quase toda a noite para fatiar a porta-armadilha, e quase amanhecia quando descansou e baixou a serra. Ainda faltava muito por fazer, mas o trabalho mais duro estava concluído. Colocar a reprodução na caixa, comparando seu aspecto com as fotos que, em forma preventiva, tinha levado, e cobrir seus rastros, poderia tomar quase todo o domingo, mas isso não o preocupava. Sobravam outras vinte e quatro horas e, certamente, receberia os visitantes da segunda-feira para confundir-se com eles e sair despercebido.
...Por isso seu sistema nervoso sofreu um golpe terrível quando, às oito e meia, as portas principais foram ruidosamente desobstruídas e os seis empregados do museu começaram a abrir. Danny se lançou à saída de emergência, deixando para trás as ferramentas, Deusas, tudo. Outra grande surpresa o esperava na rua: esta deveria ter estado completamente deserta a essa hora do dia, com todo mundo em sua casa lendo os periódicos do domingo. Mas ali estavam os cidadãos de Meridiano Oriental caminhando para as fábricas e aos escritórios, no que, obviamente, era um dia normal de trabalho. Quando Danny retornou ao hotel, o estávamos esperando. Não tinha muito mérito deduzir que só um visitante da Terra, e um muito recente, podia ter ignorado a mais famosa peculiaridade de Cidade Meridiano. Suponho que vocês a conhecem.
— Francamente, eu não — respondi. — Não se pode ver muito de Marte em só seis semanas, e nunca fui ao leste do Syrtis Maior.
— Bom, é absurdamente simples, mas não devemos ser muito duros com o Danny; até os habitantes caem às vezes na mesma armadilha. É algo que não nos incomoda na Terra, onde pudemos arrojar o problema ao Oceano Pacífico. Mas em Marte, é obvio, tudo é terra firme; e isso significa que alguém tem que viver com a Linha Internacional de Mudança de Data... Danny tinha saído do Meridiano Ocidental. Ali era domingo... e ainda era domingo quando o recapturamos no hotel. Mas lá em Meridiano Oriental, a um quilômetro de distância, ainda era sábado. A culpa teve esse curto passeio através do parque; já disse que ele teve muito má sorte.
Houve uma longa pausa de silenciosa compaixão; depois perguntei:
— Quanto lhe deram?
— Três anos — disse o Inspetor Rawlings.
— Não parece muito.
— Anos marcianos; são quase seis dos nossos. E uma multa enorme que, por estranha coincidência, era justo o valor de reembolso de sua passagem de volta à Terra. Não está no cárcere, naturalmente; Marte não pode permitir-se esse tipo de luxos improdutivos. Danny deve trabalhar para viver, debaixo de discreta vigilância. Já contei que o Museu Meridiano não podia pagar a um faxineiro bom, agora tem um. Adivinhem quem.
— Todos os passageiros devem preparar-se para subir em dez minutos! Por favor, recolham sua bagagem de mão! — ordenaram os alto-falantes.
Enquanto íamos para as comportas, não pude evitar fazer outra pergunta.
— E as pessoas que encarregaram Danny desse trabalho? Seguramente havia muito dinheiro por trás dele. Apanharam-nos?
— Ainda não; cobriram muito bem os rastros e acredito que Danny disse a verdade quando afirmou que não podia nos dar nenhuma pista. De toda forma, não é meu caso; como os disse, volto para meu velho trabalho na Scotland Yard. Mas um policial sempre tem os olhos abertos; igual a um comerciante de objetos de arte. Não é assim, senhor Maccar? Sente-se bem? Tome uma de minhas pastilhas contra enjôos espaciais.
— Não, obrigado — respondeu o senhor Maccar. — Estou muito bem.
O tom de sua voz era claramente hostil; a temperatura social parecia ter descido abaixo de zero nos últimos minutos. Olhei o senhor Maccar, e olhei para o Inspetor. E de repente compreendi que íamos ter uma viagem muito interessante.
Antes do Éden
— Suponho — disse Jerry Garfield, apagando os motores. — que aqui termina a rota.
O som dos reatores se desvaneceu com um suspiro. Privado de seu colchão de ar, o veículo explorador Ruína Errante pousou nas escarpadas rochas da Meseta Ocidental.
Não havia forma de continuar: nem com os motores à reação nem com os tratores podia a S.5 (para dar à Ruína seu nome oficial) escalar o escarpado. O pólo sul de Vênus estava tão somente a quarenta quilômetros de distância, mas poderia ter estado em outro planeta. Teriam que dar meia-volta e retroceder a viagem de seiscentos quilômetros nessa paisagem de pesadelo. O tempo estava extremamente limpo, com uma visibilidade de quase mil metros. Não era necessário o radar para ver os penhascos; por uma vez, com os olhos era suficiente. A esverdeada luz matutina transpassava nuvens que haviam ficado intactas durante um milhão de anos, dando à cena uma aparência submarina; e a forma em que a névoa apagava todos os objetos distantes aumentava essa impressão. Às vezes era fácil acreditar que se moviam através de um leito marinho pouco profundo e, em mais de uma ocasião, Jerry acreditou ter visto peixes flutuando.
— Chamo a nave e digo que voltamos? — perguntou.
— Ainda não — disse o doutor Hutchins. — Quero pensar.
Jerry lançou um olhar suplicante ao terceiro membro da tripulação, mas não encontrou apoio moral. Coleman era igual; embora a metade do tempo os dois homens discutissem furiosamente, ambos eram cientistas e, portanto, na opinião do teimoso navegador, cidadãos não inteiramente responsáveis. Se Coleman e Hutch tinham a brilhante ideia de continuar, nada podia fazer, exceto registrar um protesto.
Hutchins ia de um lado para outro na diminuta cabine, estudando mapas e instrumentos. Em um momento fez girar o refletor para os penhascos, e começou a examiná-los cuidadosamente com os binóculos. Não esperará que eu dirija até lá em cima!, pensou Jerry. A S.5 é um trator larva, não uma cabra montanhesa...
De repente, Hutchins encontrou algo. Lançou uma exclamação e se voltou para Coleman.
— Olhe! — disse excitado. — À esquerda dessa marca negra! Me diga o que vê.
Entregou-lhe os binóculos e Coleman olhou.
— Maldição! — disse Coleman por fim. — Tinha razão. Há rios em Vênus. Essa é uma cascata seca.
— Assim me deve um jantar no Bel Gourmet quando voltarmos à Cambridge. Com champanha.
— Não precisa me recordar isso. De toda forma, não é caro. Mas todas suas teorias continuam sendo disparates.
— Um minuto — interveio Jerry. — O que é isso de rios e cascatas? Todo mundo sabe que não podem existir em Vênus. Nunca faz frio suficiente para que as nuvens se condensem no banheiro de vapor que é este planeta.
— Olhaste o termômetro ultimamente? — perguntou Hutchins com enganosa suavidade.
— Estive muito ocupado dirigindo.
— Então tenho novidades para ti. Baixou a cento e dez, e segue baixando. Não esqueça que estamos quase no pólo, que é inverno, e que estamos a vinte mil metros sobre as terras baixas. A soma destes elementos ocasiona um ligeiro esfriamento no ar. Se a temperatura baixa uns poucos graus mais, teremos chuva. A água estará fervendo, é obvio: mas será água. Embora George ainda não queira admiti-lo, isto coloca Vênus em uma situação completamente diferente.
— Por que? — perguntou Jerry, embora já tivesse adivinhado.
— Onde há água pode haver vida. Nos apressamos ao supor que Vênus é estéril, só porque a média da temperatura está acima dos duzentos e cinqüenta graus. Aqui faz muito mais frio, e é por isso que eu estava tão ansioso por chegar ao pólo. Aqui, nas terras altas, há lagos, e quero vê-los.
— Mas água fervendo! — protestou Coleman. — Nada poderia viver nisso!
— Na Terra há algas que o conseguem. E se tivermos aprendido uma coisa desde que começamos a explorar os planetas, é o seguinte: em qualquer lugar que a vida tenha a mais remota possibilidade de sobreviver, a encontrarás. Esta é a única possibilidade que teve em Vênus.
— Oxalá pudéssemos comprovar sua teoria. Mas olhe: não podemos escalar esse penhasco.
—Possivelmente não no veículo. Mas não será muito difícil escalar essas rochas, mesmo vestindo trajes térmicos. Tudo o que temos que fazer é caminhar uns poucos quilômetros para o pólo. De acordo com os mapas do radar, estou acostumado a isso, é bastante plano mais à frente da borda. Poderíamos fazê-lo em... Oh, doze horas como máximo. Todos estivemos fora durante mais tempo, e em condições muito piores.
Isso era certo. As roupas protetoras desenhadas para manter os homens vivos nas terras baixas de Vênus teriam pouco trabalho onde havia só quarenta graus mais que no Vale da Morte no verão.
— Bom — disse Coleman — conhece o regulamento. Não pode ir sozinho e alguém deve ficar aqui para manter contato com a nave. Como escolhemos desta vez, xadrez ou cartas?
— O xadrez leva muito tempo — disse Hutchins — especialmente quando são vocês dois que jogam. — Pinçou na mesa dos mapas e tirou um maço de cartas bastante usado. — Corta, Jerry.
— Dez de espadas. Espero que possa superá-lo, George.
— Eu também. Maldição: só cinco de Paus! Bom, saudações aos venusianos.
Apesar da segurança de Hutchins, subir o acantilado foi trabalhoso. A costa não era muito levantada, mas o peso do equipamento de oxigênio, os trajes térmicos refrigerados e o equipamento científico, somavam mais de cinqüenta quilos por homem. A baixa gravidade, treze por cento mais fraca que a terrestre, ajudava um pouco, mas não muito, enquanto subiam com dificuldade, descansavam nas beiras para recuperar o fôlego e voltavam a subir no crepúsculo submarino. A fosforescência que os banhava era mais intensa que a da lua cheia na Terra. Em Vênus uma lua seria um desperdício, disse-se Jerry. Jamais seria vista da superfície, não havia oceanos que pudesse governar, e a eterna aurora era uma fonte de luz muito mais constante.
Tiveram que subir mais de setecentos metros antes que o chão se nivelasse até formar uma suave inclinação, cruzada aqui e lá por canais claramente escavados por uma correnteza. Logo depois de uma curta busca encontraram um terreno baixo suficientemente largo e profundo para merecer o nome de leito de rio, e começaram a seguir seu curso.
— Acabo de pensar algo — disse Jerry, logo depois de caminhar umas centenas de metros. — E se adiante houvesse uma tormenta? Eu não gosto absolutamente da ideia de enfrentar uma marejada de água fervendo.
— Se houver uma tormenta — replicou Hutchins, algo impaciente, a ouviremos. Haverá tempo de sobra para chegar ao terreno alto.
Sem dúvida tinha razão, mas Jerry não se sentiu mais feliz enquanto seguiam o ondulado curso de água costa acima. Sua inquietação tinha aumentado desde que passaram a cúpula do penhasco e perderam o contato de rádio com o carro explorador. Nessa época, estar isolado dos semelhantes era uma experiência única e perturbadora. Ao Jerry não tinha ocorrido nunca antes; mesmo a bordo do Luzeiro do Alvorada, quando estavam a cento e cinqüenta milhões de quilômetros da Terra, sempre podia enviar uma mensagem à família e ter a resposta em poucos minutos. Mas agora uns quantos metros de rocha o isolavam do resto da humanidade; se algo lhes acontecesse ali, ninguém saberia jamais, a menos que alguma expedição posterior encontrasse os corpos. George esperaria o número de horas convencionado; depois voltaria para a nave..., sozinho.
Acredito que não pertenço ao tipo dos pioneiros, se disse Jerry. Eu gosto de dirigir máquinas complicadas, e assim me vi metido nos vôos espaciais. Mas nunca me detive a pensar aonde me levaria isso, e agora é muito tarde para mudar de idéia...
Teriam percorrido uns quatro quilômetros para o pólo, seguindo os meandros do leito do rio, quando Hutchins se deteve para fazer observações e a juntar espécimes.
— Segue descendo! — disse. — A temperatura baixou a noventa e três. É de longe a temperatura mais baixa que se registrou em Vênus. Oxalá pudéssemos chamar o George e fazê-lo saber.
Jerry provou todas as longitudes de onda; tratou inclusive de alcançar a nave (as imprevistas oscilações da ionosfera do planeta possibilitavam às vezes recepções de longa distância), mas não havia nem o indício de uma onda de transmissão sobre o estrondo e os rangidos das tormentas venusianas.
— Isto é melhor ainda — disse Hutchins, e agora estava realmente excitado. — A concentração de oxigênio está subindo: quinze partes em um milhão. No veículo era só de cinco e nas terras baixas quase não o pode detectar.
— Mas quinze em um milhão! — protestou Jerry. — Nada poderia respirar isso!
— Entendeste mal — explicou Hutchins. — Nada o respira. Algo o produz. De onde acredita que sai o oxigênio da Terra? A vida o produz, à medida que cresce. Antes que houvesse planta na Terra nossa atmosfera era igual a esta: uma confusão de bióxido de carbono e amônia e metano. Logo a vegetação evoluiu, transformando lentamente a atmosfera em algo que os animais podiam respirar.
— Entendi — disse Jerry. — E crê que aqui está começando o mesmo processo?
— Assim parece. Algo não longe daqui está produzindo oxigênio e a vida vegetal é a explicação mais simples.
— E onde há plantas — meditou Jerry — suponho que cedo ou tarde aparecerão os animais.
— Sim — disse Hutchins, empacotando o equipamento e seguindo pelo terreno baixo — embora isso leve algumas centenas de milhões de anos. Pode ser que tenhamos chegado demasiado cedo, mas espero que não.
— Tudo isso está muito bem — respondeu Jerry. — Mas, e se encontrássemos algo hostil? Não temos armas.
Hutchins bufou, aborrecido.
— E não as necessitamos. Pensaste no que parecemos? Qualquer animal sairia correndo se nos visse.
Tinha um pouco de razão. A reluzente capa metálica dos trajes térmicos os cobria dos pés à cabeça como uma resplandecente armadura. Nenhum inseto tinha antenas mais complicadas que as montadas em seus cascos e mochilas, e os largos cristais através dos quais olhavam o mundo pareciam olhos vazios e monstruosos. Sim, havia poucos animais na Terra que se deteriam para discutir com semelhantes aparições. Mas os venusianos podiam ter outras ideias.
Jerry ainda estava ruminando isto quando chegaram ao lago. Até à primeira olhada não o fez pensar na vida que procuravam, mas sim na morte. Estendia-se como um espelho negro entre uma dobra das colinas. A borda longínqua estava oculta em uma bruma eterna, e umas fantasmagóricas colunas de vapor formavam redemoinhos e dançavam na superfície. Só faltava, pensou Jerry, a barca do Caronte esperando para levá-los a outro lado. Ou o Cisne da Tuonela nadando majestosamente de cima para baixo enquanto cuidava da entrada ao Inferno...
Apesar de tudo, era um milagre: o primeiro curso de água que o homem tinha encontrado em Vênus. Hutchins já estava de joelhos, quase em atitude de oração. Mas só estava juntando gotas do precioso líquido para examiná-lo com seu microscópio de bolso.
— Há algo aí? — perguntou Jerry ansiosamente.
Hutchins moveu a cabeça.
— Se o houver, é muito pequeno para vê-lo com este instrumento. Direi mais quando estivermos de retorno na nave.
Fechou um tubo de ensaio e o colocou na bolsa, tão meigamente como um mineiro que houvesse encontrado uma semente guarnecida de ouro. Podia ser, possivelmente o fosse, nada mais que água. Mas também podia ser um universo de desconhecidas criaturas vivas, na sobressaltada etapa de sua viagem de um bilhão de anos para a inteligência.
Hutchins não tinha caminhado mais de uma dúzia de metros à borda do lago quando se deteve tão subitamente que Jerry quase se chocou com ele.
— O que aconteceu? — perguntou Jerry. — Viu algo?
— Ali, aquela rocha escura. Vi-a antes de nos determos no lago.
— O que tem? A mim parece uma rocha comum.
— Acredito que cresceu.
Jerry recordaria esse momento por toda sua vida. Por alguma razão, não duvidou nem um momento das palavras de Hutchins; a esta altura podia acreditar em tudo, inclusive que as rochas cresciam. O sentimento de solidão e mistério, a presença do escuro e melancólico lago, o contínuo estrondo das tormentas longínquas, e a vacilante luz esverdeada da aurora, tinham lhe afetado a mente, preparando-a para enfrentar o incrível. Entretanto não sentiu medo; isso viria depois.
Olhou a rocha. Estava aproximadamente a cento e cincoenta metros. Sob a turva luz esmeralda era difícil julgar distâncias ou dimensões. A rocha, ou o que fosse, estava perto do topo de uma colina, e parecia uma prancha horizontal de um material quase negro.
Havia junto a essa uma segunda mancha do mesmo material, muito menor; Jerry tentou medir e memorizar a distância que as separava para detectar qualquer mudança.
Nem sequer quando viu que a distância se reduzia lentamente sentiu alarme: só uma excitada perplexidade. Depois, quando se desvaneceu essa sensação e compreendeu que os olhos o tinham enganado, um terror de impotência lhe apertou o coração.
Aquelas não eram rochas que cresciam ou se moviam. O que observavam era uma maré escura, um tapete coleante que, lenta, mas inexoravelmente, se arrastava para eles sobre a cúpula da colina.
O momento de pânico puro e irracional não durou, misericordiosamente, mais que uns poucos segundos O terror do Jerry começou a desvanecer-se assim que reconheceu a causa. Pois essa maré que avançava tinha lhe recordado, muito vividamente, uma história lida muitos anos atrás sobre os exércitos de formigas no Amazonas, e a forma como destruíam tudo em seu caminho...
Mas qualquer que fosse sua natureza, essa maré se movia com muita lentidão para constituir um perigo, a menos que lhes cortasse a linha de retirada. Hutchins a olhava atentamente através do único par de binóculos que tinham. Era o biólogo e se mantinha firme em seu posto. Não há razão para que eu faça o papel de tolo, pensou Jerry, correndo como um gato escaldado, se não for necessário.
— Por todos os céus! — disse finalmente, quando o tapete móvel estava só a cem metros de distância e Hutchins não tinha proferido ainda nenhuma palavra nem movido um só músculo. — O que é?
Hutchins se animou lentamente, como uma estátua que volta para a vida.
— Me perdoe — disse. — Tinha me esquecido de você. É uma planta, é obvio. Ao menos acredito que seria melhor chamá-la assim.
— Mas está se movendo!
— Por que isso deveria nos surpreender? O mesmo fazem as trepadeiras terrestres. Alguma vez viu filmes da hera em câmara rápida?
— Mas ficam quietas; não se arrastam pela paisagem a seu redor.
— E o plâncton marinho, que nada quando necessita?
Jerry se rendeu; de toda a maneira, a maravilha o tinha deixado sem palavras.
Seguiu pensando que a coisa era um tapete alto, adornado com borlas nas bordas. Variava de espessura enquanto se movia; em alguns lugares não era mais que um filme; em outros se empilhava até uma altura de trinta centímetros ou mais. Ao aproximar-se para ver a textura, Jerry pensou no veludo negro. Perguntou-se como seria ao tato e então recordou que lhe queimaria os dedos embora não lhe fizesse nenhum outro dano. Encontrou-se pensando, com o atordoamento que freqüentemente se segue a uma súbita comoção: Se houver venusianos, nunca poderemos lhes dar a mão. Nos queimariam e nós os congelaríamos.
Até agora a coisa não tinha mostrado sinais de ter notado a presença dos homens. Só tinha fluido para diante como a maré irracional que seguramente era. Se não fosse pelo fato de que subia sobre pequenos obstáculos, poderia ter sido uma inundação.
E então, quando estava só a três metros de distância, a maré aveludada se deteve. Seguiu fluindo à direita e esquerda, mas adiante se deteve completamente.
— Está nos rodeando — disse Jerry ansiosamente; — Nos conviria retroceder, até estarmos seguros que ela é inofensiva.
Para seu alívio, Hutchins retrocedeu imediatamente. Logo depois de uma breve duvida a criatura reatou o lento avanço, e a fenda em sua linha frontal desapareceu.
Então Hutchins deu um passo adiante e a coisa retrocedeu lentamente. O biólogo avançou e retrocedeu meia dúzia de vezes e, em cada ocasião, foi acompanhado de um fluxo e vazante da maré vivente. Nunca imaginei, pensou Jerry, que viveria para ver um homem dançando uma valsa com uma planta...
— Termofobia — disse Hutchins. — Reação puramente automática. Não gostam de nosso calor.
— Nosso calor! — protestou Jerry. — Se em comparação a ela somos pedaços de gelo vivos!
— Claro, mas nossos trajes não.
Que estúpido, pensou Jerry. Quando estava cômodo e fresco dentro de seu traje térmico era fácil esquecer que a unidade de refrigeração que levava às costas bombeava uma rajada de calor para fora. Não era de estranhar que a planta venusiana houvesse se afastado...
— Vejamos como reage à luz — disse Hutchins.
Acendeu a lanterna que levava no peito e um potente resplendor, puramente branco, varreu a esverdeada fosforescência matutina. Jamais tinha brilhado uma luz branca sobre a superfície do planeta Vênus, até a chegada do homem. Nem sequer de dia. Como nos mares da Terra só havia um crepúsculo verde, que se apagava lentamente até chegar à escuridão total.
A transformação foi tão surpreendente que nenhum dos homens pôde reprimir um grito de assombro. De repente desapareceu o negro profundo e sombrio do espesso tapete aveludado. Em troca, até onde as luzes chegavam, se estendia um chamejante desenho de gloriosos, vívidos vermelhos, guarnecidos de nervuras douradas. Nenhum príncipe persa poderia ter ordenado nunca tapeçaria tão opulenta a seus tecedores e, entretanto, esta era o fruto acidental de forças biológicas. Claro que essas soberbas cores nem sequer tinham existido até que os homens acenderam os refletores, e desapareceriam de novo quando a estranha luz da Terra deixasse de conjurá-los.
— Tikov tinha razão — murmurou Hutchins. — Oxalá houvesse podido sabê-lo.
— Razão no que? — perguntou Jerry, embora parecesse quase um sacrilégio falar em presença de tanta beleza.
— Lá na Rússia, faz cinqüenta anos, descobriu que as plantas de climas muito frios tendiam a ser azuis e violeta, enquanto que as de climas calorosos eram vermelhas ou laranja. Predisse que a vegetação marciana seria violeta e disse que, se havia plantas em Vênus, seriam vermelhas. Bom, acertou em ambas as coisas. Mas não podemos ficar aqui o dia todo; temos trabalho que fazer.
— Está seguro que é inofensiva? — perguntou Jerry, prudente outra vez.
— Completamente. Não pode tocar nossos trajes, embora queira. De todo o modo, já se vai.
Isso era certo. Podiam ver agora que a criatura, se fosse só uma planta e não uma colônia, cobria uma área circular de quase cem metros de diâmetro. Varria o chão como a sombra de uma nuvem levada pelo vento; e ali onde tinha descansado as rochas estavam cobertas de picadas: inumeráveis buracos minúsculos, gravados possivelmente por um ácido.
— Sim — disse Hutchins, respondendo à observação do Jerry. — É assim que se alimentam alguns liquens: segregam ácidos que dissolvem a rocha. Mas nada de perguntas, por favor. Não até que voltemos para a nave. Tenho aqui trabalho para várias visitas, e só um par de horas para fazê-lo.
Isto era botânica na corrida... A borda delicada bordo da enorme planta-coisa se movia com surpreendente rapidez enquanto tratava de evitá-los. Era como se estivessem enfrentando uma dança animada de meio hectare de extensão. Evitava automaticamente o escapamento de calor dos trajes, mas não reagia quando Hutchins cortava amostras ou fazia testes. A criatura fluía constantemente para diante, sobre colinas e vales, guiada por um estranho instinto vegetal. Possivelmente seguia um vetor mineral; os geólogos esclareceriam isso quando analisassem as amostras de rocha que Hutchins tinha juntado antes e depois da passagem do estofo vivo.
Havia apenas tempo para pensar ou mesmo para dar forma às inumeráveis perguntas que provocava o descobrimento. Essas criaturas deviam ser bastante comuns, para que eles tivessem encontrado uma tão rapidamente. Como se reproduziriam? Por brotos, esporos, cisão ou por algum outro meio? De onde tiravam a energia? Que família, rivais ou parasitas teriam? Pensar isso era absurdo, pois onde há uma espécie deve haver milhares...
Finalmente a fome e a fadiga os obrigaram a se deter. A criatura que estudavam podia comer percorrendo toda a superfície de Vênus, embora Hutchins pensasse que nunca se afastava muito do lago, já que de vez em quando se aproximava e introduzia um pedaço na água. Mas os animais da Terra tinham que descansar.
Foi um grande alívio inflar a carpa pressurizada, entrar na câmara de pressão e despojar-se dos trajes térmicos. Pela primeira vez, enquanto descansavam dentro da diminuta esfera plástica, compreenderam a maravilha e a importância do descobrimento. O mundo que os rodeava já não era o mesmo: Vênus já não estava morto, pois tinha se unido à Terra e a Marte.
A vida chamava à vida através dos abismos do espaço. Tudo o que crescia ou se movia sobre a superfície de qualquer planeta era um portento, uma promessa do fato que o Homem não estava sozinho neste universo de sóis flamejantes e giratórias nebulosas. Se até agora não tinha encontrado companheiros com os quais pudesse falar, isso era muito natural, pois lá diante se estendiam ainda muitos anos luz inexplorados.
Enquanto isso, devia cuidar e respirar a vida que encontrasse, fosse sobre a Terra, Marte ou Vênus.
Isso era o que Graham Hutchins, o biólogo mais feliz do Sistema Solar, dizia a si mesmo, enquanto ajudava Jerry a recolher os restos e a selá-los dentro de uma bolsa plástica de lixo. Quando desinflaram a carpa e empreenderam a viagem de volta não havia sinal algum da criatura que tinham estado examinando. Melhor assim; poderiam ter se sentido tentados em prosseguir os experimentos, e o fim do prazo já estava incomodamente perto.
Não importava; em poucos meses estariam de volta com uma equipe de ajudantes, muito melhor providos e sob o olhar de todo o mundo. A evolução tinha trabalhado durante um bilhão de anos para fazer possível esse encontro, e podia esperar um pouco mais.
Durante um momento nada se moveu na nebulosa e verde fosforescência da paisagem; não havia homens nem tapete carmesim. E, de repente, fluindo sobre colinas esculpidas pelo vento, reapareceu a criatura. Ou possivelmente era outra criatura da mesma e estranha espécie; ninguém saberia nunca.
Deslizou até o montão de pedras onde Hutchins e Jerry tinham enterrado o lixo. Ali se deteve.
Não estava perplexa porque não tinha mente. Mas as urgências químicas que a impulsionavam inexoravelmente pela meseta polar, gritavam: Aqui, aqui! Em algum lugar, perto, estava o mais precioso de todos os alimentos: o fósforo, ingrediente indispensável para acender a faísca vital. O tapete começou a esfregar as rochas, a escorrer entre gretas e fendas, a arranhar e escavar com dedos exploratórios. Nada do que fazia estava fora das possibilidades de qualquer planta ou árvore na Terra. Mas se movia mil vezes mais rápido, chegando ao objetivo e trespassando o filme plástico em poucos minutos.
E então teve um banquete com uma comida muito mais concentrada que toda a que tinha conhecido até então. Absorveu os hidratos de carbono e as proteínas e os fosfatos, a nicotina das bitucas de cigarros, a celulose das taças de papel e as colheres. Decompôs todo isso e o assimilou a seu estranho corpo, sem dificuldades, inofensivamente.
Ao mesmo tempo absorveu todo um microcosmo de criaturas vivas: as bactérias e os vírus que, sobre um planeta mais antigo, tinham evoluído transformando-se em mil enfermidades mortais. Embora só uns poucos pudessem sobreviver nessa atmosfera, eram suficientes.
Quando o tapete se arrastou de volta ao lago, levava o contágio a todo seu mundo.
No momento em que o Luzeiro do Alvorada se punha no rumo do seu longínquo lar, Vênus já estava morrendo. Os filmes e fotografias e espécimes que Hutchins levava vitoriosamente, eram mais preciosos ainda do que ele pensava. Eram o único testemunho que existiria jamais do terceiro intento da vida em propagar-se no Sistema Solar.
Sob as nuvens de Vênus, a história da Criação tinha terminado.
Um Ligeiro Caso de Insolação
Outra pessoa deveria narrar esta história: alguém que entenda o estranho tipo de futebol que jogam na América do Sul. Lá em Moscou, Idaho, tomamos a bola e corremos com ela. Na pequena, mas próspera república que chamarei Perivia, golpeiam-na com os pés. E isso não é nada, em comparação com o que fazem ao árbitro.
Adeus, a capital da Perivia, é uma bela e moderna cidade cravada nos Andes, a quase três mil metros acima do nível do mar. É muito orgulhosa de seu magnífico estádio de futebol, que pode alojar cem mil pessoas. Mesmo assim, é apenas suficiente para dar capacidade a todos os fanáticos que se apresentam quando há uma partida realmente importante, como a anual com a vizinha república da Panagura.
Uma das primeiras coisas que aprendi quando cheguei a Perivia, logo depois de várias aventuras penosas em zonas menos democráticas da América do Sul, foi que a partida do ano anterior tinha sido perdida por causa da desonestidade do juiz. Aparentemente o juiz tinha expulsado a quase todos os jogadores da equipe, anulado um gol, e feito todo o necessário para que não ganhasse o melhor quadro. Esta diatribe me fez ter saudades da minha terra, mas, recordando onde estava, simplesmente comentei:
— Deveriam ter lhe pago mais.
— Fizemos — foi a amarga resposta — mas os panaguros falaram com ele depois.
— É uma lástima — respondi. — Hoje em dia é difícil encontrar um homem honesto que não mude de comprador.
O inspetor de alfândegas, que acabava de tomar meu último bilhete de cem dólares, teve a gentileza de ruborizar-se debaixo das barbas enquanto me fazia cruzar a fronteira.
As semanas seguintes foram duras, embora não seja essa a única razão pela qual preferiria não falar delas. Mas logo voltei para o negócio das máquinas agrícolas, embora nenhuma das máquinas que importava se aproximasse jamais a uma granja, e agora custa muitíssimo mais de cem dólares cada vez que quero passá-las pela fronteira sem que algum intrometido olhe as caixas. Tinha muito que fazer e o que menos me preocupava era o futebol; sabia que meus custosos artigos importados seriam utilizados em qualquer momento, e queria me assegurar que, desta vez, meus lucros fossem comigo quando eu deixasse o país.
Apesar disso, ninguém podia ignorar a excitação ao se aproximar o dia da partida de revanche. Em primeiro lugar, obstaculizava-me os negócios. Sempre que ia a uma conferência, arrumada com grande dificuldade e gastos em um hotel seguro ou em casa de algum simpatizante de confiança, a metade do tempo todo mundo falava de futebol. Era enlouquecedor; e comecei a me perguntar se os perivianos levavam a política tão a sério como os esportes.
— Cavalheiros! — protestava eu. — Nosso próximo envio de semeadoras mecânicas giratórias será descarregado amanhã e, a menos que obtenhamos essa permissão do Ministro da Agricultura, alguém pode abrir as caixas e então...
— Não se preocupe, amigo — respondia vivamente o general Serra ou o coronel Pedro — isso já está arrumado. Deixe-o nas mãos do exército.
Eu sabia que não era conveniente replicar: “que exército?” e durante os dez minutos seguintes tive que escutar uma veemente exposição de táticas futebolísticas e a melhor forma de tratar a árbitros recalcitrantes. Nunca sonhei, nem eu nem ninguém, que esse tópico estaria intimamente ligado ao nosso problema particular.
Depois tive tempo de reconstituir o que realmente tinha acontecido, mas naquele momento era muito confuso. A figura central do drama era indubitavelmente dom Hernando Díaz, playboy milionário, fanático por futebol, cientista aficionado e, estou seguro, futuro presidente da Perivia. Devido a sua afeição aos automóveis de corrida e às belezas de Hollywood, que o converteu em um dos artigos de exportação melhor conhecidos de seu país, a maioria das pessoas supõe que a etiqueta de “playboy” descreve completamente dom Hernando. Nada, mas nada, poderia estar mais longe da verdade.
Eu sabia que dom Hernando era um dos nossos, mas ao mesmo tempo grande favorito do Presidente Ruiz, e que estava, portanto, em uma posição poderosa mas delicada. Naturalmente, não o tinha conhecido nunca; ele tinha que ser muito exigente com seus amigos e havia muito pouca gente interessada em me conhecer, a menos que não tivessem outro remédio. Somente muito mais tarde soube de seu interesse pela ciência; parece que tem um observatório privado que utiliza freqüentemente nas noites claras, embora segundo os rumores, as funções não sejam somente astronômicas.
Dom Hernando deve ter necessitado todo seu encanto e seus poderes de persuasão para convencer o Presidente; se este não tivesse sido também um fanático por futebol, e não tivesse estado doído pela derrota do ano anterior, como todo periviano patriota, jamais teria aceitado. Mas a originalidade do plano deve tê-lo atraído, embora não lhe agradasse muito a ideia de ter a metade das tropas fora de ação durante a maior parte da tarde. Não obstante, como o terá recordado certamente dom Hernando, que melhor forma de assegurar a lealdade do exército, que lhe dando cinqüenta mil assentos para a partida do ano?
Eu não sabia nada do assunto quando me sentei no estádio nesse dia memorável. Se vocês acreditarem que eu não tinha desejo algum de estar ali, acertam. Mas o coronel Pedro tinha me dado uma entrada, e era pouco saudável ferir os seus sentimentos não a usando. De modo que ali estava eu, sob o sol abrasador, abanando-me com o programa e escutando os comentários em meu rádio portátil, enquanto esperávamos que começasse o jogo.
O estádio estava repleto; seu grande ovalóide côncavo era um apertado mar de rostos. Tinha demorado um pouco a entrada dos espectadores; a polícia tinha feito todo o possível, mas leva tempo revisar cem mil pessoas em busca de armas de fogo escondidas. A equipe visitante tinha insistido nisso, para grande indignação dos locais. Mas os protestos se desvaneceram rapidamente quando a artilharia se amontoou nos postos de controle.
Foi fácil adivinhar o momento exato da chegada do árbitro em seu Cadillac branco; escutando as vaias da multidão se podia saber por onde ia.
— Por que não trocam o árbitro, se tanto lhes desgosta? — perguntei a meu vizinho, um tenente tão jovem que podia ser visto comigo sem nenhum problema.
E o tenente encolheu de ombros resignadamente.
— Os visitantes têm direito a escolher. Nada podemos fazer.
— Então pelo menos deveriam ganhar as partidas que jogam na Panagura.
— É certo — concordou. — Mas na última vez fomos muito confiados. Jogamos tão mal que nem sequer nosso árbitro pôde nos salvar.
Custava-me sentir simpatia por algum dos dois bandos, e me dispus a suportar um par de horas de buliçoso aborrecimento. Poucas vezes me equivoquei tanto.
É certo que o jogo demorou a começar. Primeiro uma banda suarenta tocou os hinos nacionais, depois as equipes foram apresentadas ao Presidente e sua dama, depois o Cardeal benzeu todo mundo, depois houve uma pausa, durante a qual ambos os capitães tiveram alguma escura discussão sobre o tamanho ou a forma da bola. Passei o período de espera lendo o programa, uma coisa cara, belamente realizada, que me tinha dado o tenente. De tamanho tablóide, impresso em excelente papel, generosamente ilustrado, parecia encadernado em prata. Os editores dificilmente recuperariam o dinheiro, mas se tratava mais de um problema de prestígio do que um problema econômico. Em todo caso, nessa “Lembrança Especial da Vitória” havia uma impressionante lista de assinantes, encabeçada pelo Presidente. A maioria de meus amigos também estava e notei com grande surpresa que a conta do presente de cinqüenta mil exemplares a nossos galhardos combatentes tinha sido paga por dom Hernando. Parecia um intento algo ingênuo e caro de obter popularidade. O nome de “Vitória” também me pareceu prematuro, para não dizer falta de tato.
Começou a partida e o rugido da enorme multidão interrompeu estas reflexões. A bola entrou em ação, mas assim que tinha ziguezagueado a metade do campo, um periviano de camiseta azul deu uma rasteira a um panagurano de listas negras. Não perdem tempo, disse-me; o que fará o árbitro? Para minha surpresa, não fez nada, e me perguntei se nesta partida teríamos conseguido que aceitasse nossos termos de pagamento.
— Não foi isso uma infração, ou como quer que vocês a chamem? — perguntei a meu companheiro.
— Ora! — respondeu ele, sem tirar os olhos da partida. — Ninguém se preocupa com esse tipo de coisas. Além disso, o coiote nem o viu.
Isso era certo. O árbitro estava muito longe e parecia que lhe custava seguir o jogo. Seus movimentos eram claramente trabalhosos, e me deixaram perplexo até que adivinhei a razão. Alguma vez vocês viram um homem tentando correr com um colete a prova de balas? Pobre diabo, pensei, com a compaixão de um patife por outro patife; estás ganhando o suborno. Eu tinha muito calor apenas por estar sentado.
Durante os primeiros dez minutos foi uma partida bastante limpa e não acredito que tenha havido mais de três brigas. Os perivianos erraram um gol por muito pouco; a bola foi tirada com tanta elegância que o frenético aplauso dos aficionados panaguranos (que tinham um guarda especial da polícia e uma seção fortificada do estádio somente para eles) quase não foi vaiado. Comecei a me sentir desiludido. Caramba, se mudassem a forma desta bola, podia ser um amável jogo em minha terra.
Por certo que a Cruz Vermelha quase não teve trabalho até que transcorreu a metade da partida; então três perivianos e dois panaguranos (ou pode ter sido o inverso), fundiram-se em uma magnífica briga da qual só sobreviveu um, graças a sua própria força. Os feridos foram tirados do campo de batalha em meio de grande barafunda e a partida se interrompeu enquanto chegavam os substitutos. Isto originou o primeiro incidente de importância: os perivianos se queixaram porque os feridos do outro lado fingiam para introduzir reservas descansados. Mas o árbitro foi inexorável: os novos homens saíram ao campo e o ruído de fundo desceu apenas logo abaixo do limite da dor ao recomeçar a partida.
Logo os panaguranos fizeram um gol e, embora nenhum de meus vizinhos chegasse a suicidar-se, vários pareceram quase a ponto de fazê-lo. A transfusão de sangue novo aparentemente tinha dado vigor aos visitantes e as coisas se apresentavam mal para a equipe local. Seus oponentes estavam conduzindo a bola com tanta habilidade que as defesas perivianas pareciam porosas como uma peneira. Se tudo continuar assim, disse-me, o árbitro pode permitir-se ser honesto; seu lado ganhará de toda a forma. E para ser justo, eu não tinha visto ainda sinal algum de parcialidade.
Não tive que esperar muito. A equipe local bloqueou um ataque que ameaçava a sua meta e um poderoso chute enviou a bola como um foguete para o outro extremo do campo. Antes que alcançasse a cúspide de seu vôo, o agudo apito do árbitro deteve o jogo. Houve uma breve consulta entre árbitro e capitães, que quase imediatamente derivou em uma desordem. Abaixo, no campo, todo mundo gesticulava violentamente, e a multidão rugia sua desaprovação.
— O que aconteceu agora? — perguntei queixosamente.
— O árbitro diz que nosso homem estava impedido.
— Mas como, se estava diante de seu próprio arco?
— Shhh! — disse o tenente, que se negava a perder tempo me informando.
Não me calo facilmente, mas desta vez o fiz, e tratei de entender sozinho as coisas. Parecia que o árbitro tinha dado um tiro livre aos panaguranos, e eu compreendia como se sentiam todos.
A bola voou pelo ar descrevendo uma bela parábola, roçou o poste e entrou apesar do salto do goleiro. Da multidão surgiu um tremendo rugido de angústia, que logo morreu abruptamente ficando em seu lugar um silêncio ainda mais impressionante. Foi como se um grande animal tivesse sido ferido e estivesse esperando o momento da vingança. Apesar do sol, quase no alto, senti de repente um calafrio, como se tivesse soprado um vento gelado. Nem por todas as riquezas dos Incas trocaria de lugar com o homem que suava no campo, envolto em seu colete a prova de balas.
Perdíamos de dois a zero, mas ainda havia esperanças; ainda não tinha terminado o primeiro tempo e podiam acontecer muitas coisas antes do fim da partida. Os perivianos estavam feridos em seu amor próprio e agora jogavam com uma intensidade quase demoníaca, como homens que aceitaram um desafio.
O novo espírito logo deu seus frutos. A equipe local anotou um gol impecável em um par de minutos e a multidão enlouqueceu de alegria. Agora eu gritava como todo mundo, dizendo ao árbitro coisas que nem sequer sabia que podia dizer em espanhol. Íamos um a dois, e cem mil pessoas rezavam e amaldiçoavam para que chegasse o gol do empate.
O gol chegou quando já terminava o primeiro tempo. Em um assunto de tão graves conseqüências quero ser perfeitamente justo. A bola passou a um de nossos atacantes, que correu uns quinze metros com ela, evitou um par de defesas com um magnífico jogo de pés e chutou limpamente para o arco. Logo que tinha descansado a bola da rede quando voltou a soar o apito.
E agora o que foi?, perguntei-me. Não podia anular isso.
Mas anulou. A bola, ao que parecia, tinha sido tocada com a mão. Tenho bons olhos e não vi tal coisa. De modo que, honestamente, não posso culpar os perivianos pelo que aconteceu depois.
A polícia conseguiu manter a multidão fora do campo, embora durante um minuto a coisa estivesse feia. As duas equipes se separaram, deixando nu o centro do campo, exceto pela teimosa e desafiante figura do árbitro. Possivelmente estava pensando como escaparia do estádio, e se consolava com o pensamento que, com a finalização da partida, poderia retirar-se para sempre.
O agudo toque de clarim tomou a todos de surpresa; a todos, menos aos cinqüenta mil homens adestrados que o esperavam com crescente impaciência. A arena ficou instantaneamente em silêncio; tão em silêncio que se ouvia o ruído do trânsito fora do estádio. Outra vez o clarim soou e, lá na frente, uma imensa extensão se desvaneceu em um cegador mar de fogo.
Gritei e tapei os olhos; por um espantoso momento pensei em bombas atômicas e me preparei inutilmente para a explosão. Mas não teve sacudidas; só o piscar de chamas que durante longos segundos me golpeou inclusive através das pálpebras fechadas; logo o clarim soou pela terceira e última vez, esfumando o véu de chamas com a mesma rapidez com que tinha aparecido.
Tudo estava agora como tinha estado antes, salvo por um detalhe de menor importância. No lugar do árbitro havia agora um pequeno montão fumegante de onde surgia uma fina coluna de fumaça que se enroscava no ar aprazível.
O que tinha acontecido? Voltei-me para meu companheiro, que estava tão comovido como eu.
— Mãe de Deus — o ouvi murmurar. — não sabia o que isso faria.
O tenente não olhava a diminuta pira funerária e sim para o belo programa de lembrança, aberto sobre os joelhos. E então, subitamente, entendi.
Até agora, depois que me explicaram tudo, custa-me ainda acreditar o que vi com meus próprios olhos. Foi tão simples, tão lógico... tão incrível.
Alguma vez vocês incomodaram alguém lhe apontando aos olhos com um espelho de bolso? Suponho que todo menino o fez; lembro a vez que o fiz a uma professora, e o consequente castigo. Mas nunca imaginei o que aconteceria quando cinqüenta mil homens bem adestrados fizessem a mesma travessura usando cada um deles um refletor de papel de estanho de meio metro quadrado.
Um amigo meu que tem uma mente matemática resolveu; não é que necessite mais provas, mas sempre eu gosto de chegar ao fundo das coisas. Nunca soube, até então, quanta energia há na luz solar: em cada metro quadrado de superfície iluminada há mais de um cavalo de força. A maior parte do calor que caía sobre um lado do grande estádio foi desviado para a pequena superfície que ocupava o defunto árbitro. Inclusive, se pensarmos em todos os programas que não apontavam corretamente, o árbitro deve ter interceptado um calor de pelo menos mil cavalos de força. Não pode ter sentido muito: foi como se o tivessem atirado em um alto forno.
Estou seguro que ninguém, exceto dom Hernando, sabia o que ia acontecer; a seus bem instruídos fanáticos lhes havia dito que o árbitro somente seria cegado e posto fora de ação pelo resto da partida. Mas também estou seguro que ninguém teve remorsos. Na Perivia jogam futebol com paixão.
O mesmo acontece com a política. Enquanto a partida continuava por volta de seu agora previsível final, sob o benigno olhar de um novo juiz compreensivelmente mais dócil, meus amigos trabalhavam intensamente. Quando nossa vitoriosa equipe saiu do campo (o resultado final foi quatorze a dois), tudo estava arrumado. Quase não houve disparos e, quando o Presidente deixou o estádio, cortesmente lhe informaram que tinha um assento reservado no vôo matutino para a Cidade do México.
Como me disse o general Serra quando subi ao mesmo avião que seu chefe anterior:
— Deixamos que o exército ganhasse o jogo de futebol e, enquanto estava ocupado, nós ganhamos o país. Assim todo mundo está contente.
Embora eu fosse muito cortês para exteriorizar minhas dúvidas, não pude deixar de pensar que esta era uma atitude um tanto míope. Vários milhões de panaguranos estavam por certo muito desgostosos e, cedo ou tarde, viria o ajuste de contas.
Suspeito que esse dia não está muito longínquo. Na semana passada meu amigo, perito mundial em sua especialidade, mas que prefere trabalhar por conta própria sob um nome falso, confiou-me discretamente um problema.
— Joe — disse — para que demônios alguém vai querer que eu lhe fabrique um foguete guiado que possa caber dentro de uma bola de futebol?
Cadela Estrela
Quando ouvi os frenéticos latidos da Laika, minha primeira reação foi ficar chateado. Virei-me no beliche e murmurei meio dormido:
— Te cale, cadela tola.
Esse nebuloso intervalo durou apenas uma fração de segundo; logo despertei e voltou o medo. Medo da solidão e medo da loucura.
Por um momento não me atrevi a abrir os olhos. A razão me dizia que nunca cão algum tinha posto pé nesse mundo, que Laika estava separada de mim por uma distância de quase quatrocentos mil quilômetros e, mais irremediavelmente ainda, por cinco anos de tempo.
— Estiveste sonhando — me disse zangado. — Não seja tolo e abre os olhos: só verá a pintura da parede.
Tinha razão, naturalmente. O pequeno camarote estava vazio, a porta hermeticamente fechada. Eu estava sozinho com minhas lembranças, afligido por essa profunda tristeza que nos inunda freqüentemente quando um sonho feliz se desvanece e é substituído pela monótona realidade. O sentimento de perda era tão desolador que tive desejos de voltar a dormir. Felizmente não o consegui, já que, nesse momento, dormir teria significado a morte. Mas isso eu não soube até cinco segundos depois e durante essa eternidade estive de volta na Terra, procurando consolo no passado.
Ninguém descobriu jamais a origem da Laika, embora o pessoal do Observatório fizesse algumas averiguações e eu publicasse vários anúncios nos periódicos de Pasadena. Encontrei-a, uma bolinha de penugem perdida e solitária, enrodilhada à beira do caminho em uma tarde do verão, subindo para Pombal. Embora nunca gostasse dos cães, nem de algum outro animal, era impossível deixar essa necessitada criatura a mercê dos carros que passavam. Com alguns escrúpulos, e desejando ter tido um par de luvas, ergui-a e a pus no porta-malas. Não estava disposto a arriscar a tapeçaria de meu novo Vik’ 92, e pensei que ali poderia fazer pouco dano. Nisso não acertei de todo.
Logo depois de estacionar o automóvel no Monastério (a residência dos astrônomos, onde viveria durante a semana seguinte), inspecionei o achado sem muito entusiasmo. Até esse momento tinha tido a intenção de entregá-la ao porteiro, mas então a cachorrinha gemeu e abriu os olhos. Havia ali tal expressão de confiança e desamparo que... bom, mudei de opinião.
Às vezes lamentei essa decisão, embora nunca durante muito tempo. Não tinha ideia dos problemas que, deliberada ou inocentemente, podia ocasionar um cão enquanto cresce. Minhas contas de limpeza e compostura subiram. Nunca podia estar seguro de encontrar um par de meias são, ou um exemplar sem mastigar da Revista de Astrofísica. Mas com o tempo, Laika chegou a comportar-se corretamente na casa e no Observatório. Deve ter sido o único cão ao qual se autorizou a entrar na cúpula de duzentas polegadas. Costumava ficar tranqüilamente na sombra durante horas, enquanto eu fazia acertos na jaula, satisfeita de ouvir minha voz de vez em quando. Os outros astrônomos também tomaram carinho por ela (foi o velho doutor Anderson quem sugeriu seu nome), mas desde o começo foi minha cadela e não obedecia a ninguém mais. O que não significa que sempre me obedecesse.
Era um formoso animal, alsaciana em noventa e cinco por cento. Suponho que esse cinco por cento que faltava foi o que os levou a abandoná-la. (Ainda me enfureço quando penso nisso, mas já que nunca conhecerei os fatos poderia estar tirando conclusões falsas.) Fora as duas manchas escuras que tinha sobre os olhos, quase todo seu corpo era de um cinza esfumaçado e seu pelo suave como a seda. Quando erguia as orelhas parecia incrivelmente inteligente e viva; às vezes, enquanto eu falava de tipos espectrais ou da evolução das estrelas com meus colegas, custava acreditar que não estivesse seguindo nossa conversa.
Até agora não posso compreender por que se encantou tanto comigo, já que entre os seres humanos tenho muito poucos amigos. Entretanto, quando voltava ao Observatório logo depois de uma ausência, Laika enlouquecia de felicidade. Saltava sobre as patas traseiras e me punha as patas sobre os ombros (que alcançava facilmente), enquanto lançava chiados de alegria que não pareciam muito apropriados para uma cadela tão grande. Odiava deixá-la mais que uns poucos dias e, embora não pudesse levá-la comigo em viagens a ultramar, me acompanhava na maioria das viagens curtas. Estava comigo quando viajei ao norte para assistir àquele malfadado seminário em Berkeley.
Alojávamo-nos em casa de uns conhecidos da Universidade. Embora se mostrassem corteses, evidentemente não tinham contado com a idéia de ter um monstro na casa. Não obstante, lhes assegurei que Laika jamais causava o menor problema e, um pouco a contragosto, lhe permitiram dormir na sala.
— Esta noite não precisam preocupar-se com os ladrões — disse.
— Não temos ladrões em Berkeley — responderam algo friamente.
No meio da noite parecia que tinham se equivocado. Despertou-me um latido da Laika, histérico e agudo, que só lhe tinha ouvido em outra ocasião: a primeira vez que viu uma vaca e não conseguia compreender que demônios era aquilo. Amaldiçoando, afastei os lençóis e me lancei tropeçando na escuridão da casa desconhecida. Minha principal preocupação era silenciar Laika antes que ela despertasse meus anfitriões... desde que já não fosse muito tarde. Se tinha havido um intruso, certamente não estava mais lá. Pelo menos assim o esperava.
Durante um momento fiquei junto ao interruptor, no alto das escadas, me perguntando se devia erguê-lo. Então grunhi:
— Te cale, Laika! — e inundei o lugar o sítio de luz.
A cadela estava arranhando a porta freneticamente, e se interrompia de tanto em tanto para lançar aquele histérico ganido.
— Se quer sair — lhe disse zangado — não há necessidade de fazer tanto escândalo.
Desci, corri o fecho, e Laika saiu disparada para a escuridão como um foguete.
Era uma noite tranqüila e silenciosa, e a lua minguante lutava tratando de transpassar a névoa de São Francisco. Fiquei ali, envolto na bruma luminosa, olhando por cima da água as luzes da cidade, esperando que Laika voltasse, para castigá-la como merecia. Estava ainda esperando-a quando, pela segunda vez no século XX, despertou de seu sonho a Falha de Santo Andrés.
O estranho é que não me assustei..., no princípio. Lembro que pensei duas coisas antes de me dar conta do perigo. Me ocorreu que os geofísicos deveriam nos haver prevenido de alguma forma. E logo me encontrei pensando, com grande surpresa: Não sabia que os terremotos faziam tanto ruído!
Foi então, possivelmente, que soube que esse não era um tremor comum; preferiria não recordar o que aconteceu depois... A Cruz Vermelha não me tirou dali até estar bastante avançada a manhã, porque me negava a me separar da Laika. Ao olhar a casa destroçada onde estavam os cadáveres de meus amigos compreendi que lhe devia a vida. Mas não podia esperar que os pilotos dos helicópteros entendessem isso e tinham todo o direito a pensar que eu estava louco, como tantos outros que tinham encontrado extraviados entre os incêndios e as ruínas.
Depois disso não acredito que tenhamos estado nunca separados mais que umas poucas horas. Contaram-me, e acredito perfeitamente, que comecei a mostrar cada vez menos interesse na companhia dos seres humanos, sem ser ativamente insociável ou misantropo. As estrelas e Laika supriam todas as minhas necessidades. Costumávamos dar largos passeios pelas montanhas; foi a época mais feliz de minha vida. Só havia um problema; eu sabia (mas Laika não) que isso tinha que terminar muito em breve.
Tínhamos estado planejando o traslado durante mais de uma década. Já pelos anos sessenta se compreendeu que a Terra não era lugar para um observatório astronômico. Até os pequenos instrumentos experimentais colocados na Lua tinham superado amplamente a todos os telescópios que esquadrinhavam o espaço através da escuridão e a névoa da atmosfera terrestre. A história do Monte Wilson, de Pombal, de Greenwich, e dos outros nomes famosos, chegava a seu fim; ainda seriam utilizados para treinamento, mas as investigações avançadas deviam transladar-se ao espaço.
Eu tinha que me transladar com ela; por certo que já me tinham dado o posto de subdiretor do Observatório do Lado Oculto. Em uns poucos meses poderia solucionar problemas nos quais tinha estado trabalhando durante anos. Além da atmosfera eu seria como um cego ao qual repentinamente lhe devolvem a vista.
Era absolutamente impossível, é obvio, levar Laika comigo. Os únicos animais na Lua eram os necessários para fins experimentais; poderia passar uma geração antes que se permitissem animais domésticos, e mesmo então custaria uma fortuna transladá-los para lá... e mantê-los vivos. Dar a Laika o seu costumeiro quilograma diário de carne tomaria, calculei, várias vezes meu bastante cômodo salário.
A escolha era simples. Podia ficar na Terra e abandonar a carreira. Ou podia ir à Lua... e abandonar Laika.
Além de tudo, era só uma cadela. Em doze anos estaria morta, enquanto que eu estaria chegando ao auge de minha profissão. Nenhum homem cordato o teria duvidado; entretanto eu duvidei, e se agora você não compreende por que, é inútil que trate de explicá-lo.
No final, deixei que as coisas corressem sozinhas. Quando chegou a semana da partida, ainda não tinha feito planos para Laika. O doutor Anderson se ofereceu para cuidar dela e eu aceitei vagamente, quase sem lhe agradecer. O velho físico e sua mulher sempre a tinham querido, e temo que me consideraram indiferente e cruel, quando a verdade era exatamente o oposto. Saímos juntos para um último passeio pelas colinas; logo a entreguei silenciosamente aos Anderson, e não voltei a vê-la.
A decolagem foi adiada por vinte e quatro horas, até que uma grande tormenta solar abandonou a órbita terrestre; mesmo assim, os cinturões de Van Allen estavam ainda tão ativos que tivemos que sair pela Abertura do Pólo Norte. Foi um vôo feio; além do costumeiro problema com a falta de gravidade, íamos todos meio bêbados por causa das drogas anti-radioativas. A nave já estava sobre o Lado Oculto antes que eu me interessasse pela viagem, de modo que perdi o espetáculo da Terra afundando no horizonte. Não o lamentei; não queria nada que me fizesse recordar; minha única intenção era pensar no futuro. Não obstante, não podia sacudir esse sentimento de culpa; tinha abandonado alguém que me amava e confiava em mim, e não era melhor que aqueles que tinham deixado Laika sozinha quando era uma cachorrinha, junto à poeirenta estrada de Pombal.
A notícia de sua morte me chegou um mês mais tarde. Não se conhecia a causa; os Anderson tinham feito todo o possível, e estavam muito desgostosos. Parecia que Laika simplesmente tinha perdido o interesse de viver. Durante um tempo acredito que me aconteceu o mesmo, mas o trabalho é um calmante maravilhoso, e meu programa estava se cumprindo. Embora nunca tenha esquecido Laika, durante um curto período a lembrança deixou de me doer.
Então por que havia tornado a me perseguir cinco anos depois, no Lado Oculto da Lua? Procurava a razão, quando o edifício metálico estremeceu como sob o impacto de um poderoso golpe. Reagi sem pensar e já estava fechando o casco de meu traje de emergência quando os alicerces cederam e a parede se abriu com um breve grito de ar que escapa. Como tinha apertado automaticamente o botão de Alarme Geral, perdemos só dois homens, apesar do fato que o tremor, o pior registrado no Lado Oculto, rachou as três cúpulas de pressão do Observatório.
É quase desnecessário que eu diga que não acredito no sobrenatural; tudo o que aconteceu tem uma explicação perfeitamente racional, óbvia para qualquer homem que possua o mais leve conhecimento de psicologia. No segundo terremoto de São Francisco, Laika não foi o único cão que pressentiu a proximidade do desastre: informou-se muitos casos semelhantes. E no Lado Oculto, minhas próprias lembranças devem ter me dado essa extrema sensibilidade quando meu subconsciente sempre acordado detectou as primeiras e débeis vibrações.
A mente humana tem formas estranhas e envolventes de funcionar; conhecia o sinal que mais rapidamente despertaria em mim o conhecimento do perigo. Isso é tudo o que aconteceu; embora em certo sentido se pudesse dizer que Laika despertou em ambas as ocasiões, não há nenhum mistério nisso, nenhum aviso milagroso através do abismo que nem o homem nem o cão podem cruzar.
Se de algo estou seguro é disso. E, entretanto, às vezes acordo no silêncio da Lua e desejo que o sonho tivesse durado uns segundos a mais. Assim poderia ter tornado a olhar aqueles luminosos olhos pardos, transbordantes de um amor tão altruísta e tão generoso como não encontrei em nenhuma parte deste ou de outros mundos.
CAMINHO DO MAR
Caíam as primeiras folhas de outono quando Durven se encontrou com seu irmão no promontório junto à Esfinge Dourada. Deixando o voador entre os arbustos, à borda do caminho, subiu ao topo da colina e olhou o mar. Um vento amargo soprava nos páramos, ameaçando com gelados temporais, mas abaixo, no vale, Shastar a Formosa permanecia morna e protegida na meia luz de suas colinas. Seus desertos moles sonhavam na pálida e minguada luz solar, enquanto o azul profundo do mar lhe lambia brandamente os flancos de mármore. Ao olhar uma vez mais as ruas e jardins obsessivamente familiares de sua juventude, Durven sentiu que sua resolução se debilitava. Alegrava-lhe encontrar-se ali com Hannar, a um quilômetro da cidade, e não entre as paisagens e sons que lhe recordariam sua juventude.
Hannar era uma diminuta mancha na costa, subindo com sua habitual lentidão. Durven poderia tê-lo alcançado em um momento com o voador, mas sabia que esse gesto não seria bem-vindo. Assim esperou a sotavento da grande Esfinge, às vezes caminhando rapidamente de um lado para outro, para manter-se quente. Em uma ou duas ocasiões foi à cabeça do monstro e olhou o rosto erguido pensativamente sobre a cidade e o mar. Recordou como, quando menino nos jardins do Shastar, tinha visto a forma escondida sobre a linha do horizonte, e se tinha perguntado se estava viva.
Hannar não parecia mais velho que no último encontro, vinte anos antes. Seu cabelo ainda era escuro e seu rosto não tinha rugas, pois poucas coisas alteravam a tranqüila vida do Shastar e de seu povo. Parecia amargamente injusto e Durven, grisalho por causa dos anos de trabalho infatigável, sentiu um rápido espasmo de inveja.
Saudaram-se breve, mas afetuosamente. Logo Hannar caminhou para a nave, instalada em seu leito de urzes. Golpeou o curvo metal com força e se voltou para Durven.
— É muito pequeno. Fez toda a viagem nisso?
— Não; só da Lua. Vim do Projeto em um vôo regular; a nave era cem vezes maior que esta.
— E onde está o Projeto... ou não quer que saibamos?
— Não é um segredo. Estamos construindo as naves no espaço, além de Saturno, onde a inclinação gravitacional do Sol é quase plana e se necessita pouco impulso para enviá-las para fora do Sistema Solar.
Hannar assinalou com o braço as águas azuis, os mármores coloridos das torrezinhas, e as amplas ruas de trânsito lento.
— Longe de tudo isto, para a escuridão e a solidão? Em busca do que?
Os lábios de Durven se apertaram em uma linha fina e decidida.
— Recorda — disse tranqüilamente — que já passei toda uma vida fora da Terra.
— E isso te deu felicidade? — continuou Hannar sem piedade.
Durven não falou durante um momento.
— Deu-me mais — respondeu finalmente. — Utilizei meus poderes ao máximo e saboreei triunfos que nunca poderá imaginar. O dia que a Primeira Expedição retornou ao Sistema Solar valeu toda uma vida no Shastar.
— Acredita — perguntou Hannar — que construirão cidades mais formosas que esta debaixo desses sóis estranhos, quando tiverem deixado nosso mundo para sempre?
— Se sentirmos a necessidade, sim. Se não, construiremos outras coisas. Mas devemos construir. E o que criou seu povo nos últimos cem anos?
— Não pense que porque não tenhamos construído máquinas, porque tenhamos dado as costas às estrelas, nos conformando com nosso próprio mundo, tenhamos estado ociosos. Aqui no Shastar desenvolvemos uma forma de vida que não acredito que tenha sido superada jamais. Estudamos a arte de viver; a nossa é a primeira aristocracia sem escravos. Esse é nosso lucro, pelo qual a história nos julgará.
— Lhe concedo isso — replicou Durven — mas nunca esqueça que seu paraíso foi construído por cientistas que tiveram que lutar como nós fizemos para converter seus sonhos em realidade.
— Nem sempre triunfaram. Os planetas os derrotaram uma vez. Por que devem ser mais hospitaleiros os mundos de outros sóis?
Era uma boa pergunta. Mesmo depois de quinhentos anos a lembrança do primeiro fracasso ainda era amargo. Com quantas esperanças e sonhos se lançou o homem para os planetas, nos últimos anos do século XX, para encontrá-los não só estéreis e mortos, mas também ferozmente hostis! Dos lentos fogos dos mares de lava de Mercúrio às pavorosas geleiras de nitrogênio sólido de Plutão, não havia onde pudesse viver desprotegido fora de seu próprio mundo; e ao seu próprio mundo, logo depois de um século de luta infrutífera, tinham retornado.
Entretanto a visão não tinha morrido por completo; logo depois de abandonar os planetas, alguns ainda ousaram sonhar com as estrelas. Desse sonho nasceu o Impulso Transcendental, a Primeira Expedição, e agora o embriagador vinho do êxito longamente adiado.
— Há cinqüenta estrelas de tipo solar a dez anos de vôo da Terra — respondeu Durven —e quase todas elas têm planetas. Agora acreditam que a posse de planetas é quase tão característica de uma estrela de tipo G como seu espectro, embora não saibamos por que. Assim a busca de mundos como a Terra estava destinada a ter êxito no seu devido tempo; não acredito que tenhamos sido especialmente afortunados ao encontrar tão logo o Éden.
— Éden? É assim que chamaram a seu novo mundo?
— Sim; parecia adequado.
— Os cientistas são uns românticos incuráveis! Possivelmente o nome esteja muito bem eleito; nem toda a vida daquele primeiro Éden foi propícia ao Homem, recorda?
Durven sorriu friamente.
— Também isso depende do ponto de vista — respondeu, assinalando Shastar, onde começavam a brilhar as primeiras luzes. — Se nossos antecessores não houvessem comido da Árvore do Conhecimento, nunca terias isto.
— E o que supõe que acontecerá a isso agora? — perguntou Hannar amargamente. — Quando tiverem aberto o caminho para as estrelas, toda a força e o vigor da raça escaparão da Terra como de uma ferida aberta.
— Não o nego. Aconteceu antes e voltará a acontecer. Shastar seguirá o caminho de Babilônia e Cartago e Nova Iorque. O futuro está construído sobre os escombros do passado. A sabedoria reluta em enfrentar esse fato, não em lutar contra ele. Amei Shastar tanto quanto você; tanto que agora, mesmo sabendo que nunca voltarei a vê-la, não me atrevo a descer uma vez mais a suas ruas. Pergunta-me o que lhe acontecerá e lhe direi isso: O que estamos fazendo agora somente apressará o fim. Faz vinte anos, quando estive aqui pela última vez, senti que o ritual sem objetivo de suas vidas me arruinava a vontade. Logo acontecerá o mesmo em todas as cidades da Terra, pois cada uma delas imita Shastar. Acredito que o Impulso não foi prematuro; possivelmente me acreditaria se tivesse falado com os homens que voltaram das estrelas, e sentiram o sangue bulir novamente nas veias, logo depois de todos estes séculos de sonho. Pois seu mundo está morrendo, Hannar; o que tem agora poderá mantê-lo ainda durante séculos, mas no final se escorrerá entre seus dedos. O futuro nos pertence; lhe deixaremos seus sonhos. Nós também sonhamos e agora vamos converter nossos sonhos em realidade.
A última luz caía sobre o rosto da Esfinge, enquanto o sol afundava no mar e deixava Shastar na noite, mas não na escuridão. As ruas largas eram rios luminosos que levavam infinidade de manchas animadas; as torres e os pináculos estavam adornados com luzes de cores, e uma débil música soava no vento, enquanto um bote de passeio se fazia lentamente ao mar. Sorrindo, Durven olhou como se afastava do curvo ancoradouro. Fazia quinhentos anos ou mais que o último navio mercante tinha descarregado seus negócios, mas enquanto houvesse mar os homens continuariam navegando.
Pouco ficava por dizer; e logo Hannar ficou sozinho sobre a colina, a cara volta para as estrelas. Nunca mais veria seu irmão; o sol, que por umas horas tinha desaparecido de sua vista, logo se desvaneceria para sempre da vista de Durven quando este se afastasse no abismo espacial.
Aprazível, Shastar resplandecia à beira do mar. Para Hannar, cheio de pressentimentos, o fim dessa cidade parecia já iminente. As palavras de Durven eram certas; o êxodo estava a ponto de começar.
Dez mil anos antes, outros exploradores tinham saído das primeiras cidades dos homens para descobrir novas terras. Tinham-nas encontrado e nunca haviam voltado, e o Tempo tinha devorado seus lugares desertos. Isso ocorreria com Shastar, a Formosa.
Apoiando-se fortemente, Hannar desceu lentamente pela costa para as luzes da cidade. A Esfinge olhou desapaixonadamente como sua figura se desvanecia na distância e a escuridão.
Ainda olhava cinco mil anos depois...
Brant ainda não tinha vinte anos quando expulsaram a seu povo de seus lares e o levaram para o oeste através de dois moderados e um oceano, cheio de éter com gritos lastimosos de ofendida inocência. O resto do mundo mostrou por eles pouca compaixão, pois só eles eram culpados e não podiam pretender que o Conselho Supremo tivesse atuado duramente. O conselho tinha lhes enviado uma dúzia de avisos preliminares e não menos de quatro ultimatos absolutamente definitivos antes de atuar a contragosto. Então, um dia, uma pequena nave com um grande emissor acústico estacionou repentinamente a quatrocentos metros sobre o povo e começou a emitir vários kilowats de ruído puro. Logo depois de umas poucas horas os rebeldes capitularam e começaram a empacotar suas coisas. A frota de transporte se apresentou uma semana mais tarde e os tinha levado, protestando ainda, a seus novos lares no outro lado do mundo.
E assim se cumpriu a Lei; a Lei que dispunha que nenhuma comunidade podia permanecer no mesmo lugar por mais de três gerações. A obediência implicava mudança, destruição de tradições, e desarraigamento de antigos e muito amado lares. Esse foi o propósito da Lei quando foi idealizada, quatro mil anos atrás; mas o estancamento que procurava impedir não podia ser detido por muito tempo. Um dia não haveria organização central para fazê-la cumprir e as aldeias disseminadas ficariam onde estavam, até que o Tempo as devorasse como tinha feito com as civilizações anteriores, das quais eram herdeiros.
O povo de Chaldis levou três meses inteiros para construir novos lares, eliminar dois quilômetros quadrados de bosques, plantar desnecessários frutos exóticos, trocar o curso de um rio, demolir uma colina que lhes ofendia a sensibilidade estética. Foi um trabalho impressionante, e tudo foi perdoado quando, pouco depois, o Supervisor local fez uma excursão de inspeção. Então Chaldis observou com grande satisfação como os transportes, as máquinas escavadoras, e toda a parafernália de uma civilização móvel e mecanizada foram embora. Apenas se tinha apagado o ruído de sua partida quando, como um só homem, a aldeia descansou uma vez mais na preguiça da qual esperava sinceramente que nada a tirasse durante pelo menos outro século.
Brant tinha desfrutado bastante de toda a aventura. Lamentava, naturalmente, ter perdido o lar que tinha formado sua infância; e agora nunca escalaria a orgulhosa e solitária montanha que tinha vigiado sua aldeia natal. Não havia montanhas nesta terra; somente colinas e vales férteis, onde os bosques se estenderam sem limite durante milênios, pois já não existia a agricultura. Fazia mais calor, também, que no velho país, pois estavam mais perto do Equador e tinham deixado para trás os ferozes ventos do norte. Em quase todos os aspectos a mudança era positiva; mas durante um ano ou dois, o povo do Chaldis sentiria um incômodo halo de martírio.
Estes assuntos políticos não preocupavam Brant nem um pouco. Toda a extensão da história humana, da Idade Média até o futuro desconhecido, era muito menos importante, nesse momento, que o problema de Yradne e seus sentimentos por ele. Perguntou-se o que estaria fazendo Yradne e tratou de idealizar uma desculpa para ir vê-la. Mas isso significaria encontrar os pais dela, que o turvariam com a cordial simulação do fato que sua visita era simplesmente social.
Decidiu então ir à ferraria, embora só fosse para verificar os movimentos de Jon. Tinha pena do Jon; tinham sido muito bons amigos até fazia pouco tempo. Mas o amor era o pior inimigo da amizade e até que Yradne escolhesse entre ambos, não sairiam de um estado de armada neutralidade.
A aldeia se estendia perto de um quilômetro com perto do vale, as novas casas dispostas em calculada desordem. Algumas pessoas caminhavam por ali sem pressa ou conversavam em pequenos grupos sob as árvores. A Brant pareceu que todos o seguiam com o olhar e falavam dele enquanto passava. Hipótese que, em realidade, era correta. Em uma comunidade fechada de menos de mil pessoas de grande inteligência, a vida privada era impossível.
A ferraria estava em uma clareira, no extremo da aldeia, onde sua desordem geral causaria o menor dano possível. Estava rodeada de máquinas velhas e meio desarmadas, que o velho Johan não tinha chegado a arrumar. Um dos três voadores da comunidade, as nuas costelas expostas ao sol, estava no mesmo lugar onde o tinham deixado semanas atrás com um pedido de reparação imediata. O Velho Johan o arrumaria algum dia, mas sem pressa.
A larga porta da ferraria estava aberta e do interior brilhantemente iluminado saíam os chiados do metal, enquanto as máquinas inventavam alguma nova forma, seguindo a vontade de seu amo. Brant abriu espaço cuidadosamente entre as atarefadas máquinas e saiu para a relativa tranqüilidade do fundo da oficina.
O Velho Johan estava sentado em uma poltrona excessivamente cômoda, fumando um cachimbo e com o aspecto de não ter trabalhado nem um só dia em toda sua vida. Era um pulcro homenzinho de barba bicuda e só seus olhos inquietos e brilhantes mostravam signos de animação. Podia-se tomá-lo por um poeta menor, que era o que ele mesmo acreditava, mas nunca pelo ferreiro da aldeia.
— Procura o Jon? — disse o velho entre baforadas. — Anda por aí, fazendo alguma coisa para aquela jovem. Não entendo o que vêem nela, vocês dois.
Brant se ruborizou e estava a ponto de responder quando uma das máquinas começou a fazer um potente ruído. O Velho Johan saiu como um raio do quarto, e durante um minuto se ouviram através da porta uns estranhos estrépitos, e golpes e palavrões. Mas muito em breve o Velho estava de volta em sua poltrona, sem dúvida esperando que não o incomodassem por um bom momento.
— Me deixe te dizer algo, Brant — continuou, como se não tivesse havido interrupção alguma. . Em vinte anos ela será exatamente igual à sua mãe. Pensou nisso?
Brant não tinha pensado, e titubeou. Mas vinte anos é uma eternidade para a juventude; se podia ter Yradne no presente, que o futuro se arrumasse sozinho. Assim respondeu ao Johan.
— Lá você — disse o ferreiro cordialmente. — Suponho que, se todos nós tivéssemos sido cuidadosos tão longe, o gênero humano teria morrido faz um milhão de anos. Por que não jogam uma partida de xadrez, como gente razoável, para decidir quem a terá primeiro?
— Brant faria armadilhas — respondeu Jon, aparecendo subitamente na entrada e enchendo-a quase completamente.
Era um jovem grande, fornido, em contraste com seu pai, e levava uma folha de papel coberta de desenhos de engenharia. Brant se perguntou que tipo de presente estaria construindo para Yradne.
— O que está fazendo? — perguntou-lhe, com curiosidade que estava longe de ser desinteressada.
— Por que lhe deveria dizer isso? — perguntou Jon de bom humor. — Me dê uma boa razão.
Brant elevou os ombros.
— Estou seguro que não é importante; só queria ser cortês.
— Não exagere — disse o ferreiro. — A última vez que foi cortês com o Jon teve um olho negro durante uma semana. Recorda? — voltou-se para seu filho e disse bruscamente: — Vejamos esses desenhos, para que te diga por que não pode fazer-se isso.
O velho examinou os rascunhos criticamente, enquanto atrás dele o Jon mostrava crescentes sinais de desassossego. Em seguida, Johan bufou com desaprovação e disse:
— De onde pensa tirar os componentes? Nenhum deles é produzido em série, e a maioria são sub-microscópicos.
Jon olhou para a oficina ao redor, esperançoso.
— Não são muitos — disse. — É um trabalho simples, e me perguntava...
— ... se te deixaria fazer uma confusão com os integradores para tratar de construir as peças. Bom, já veremos. Meu talentoso filho, Brant, trata de provar que tem cérebro além de músculos, construindo um brinquedo que foi obsoleto durante uns cinqüenta séculos. Espero que possa fazer algo melhor que isso. Quando eu tinha sua idade...
A voz e as lembranças do velho Johan se perderam no silêncio.
Yradne tinha entrado, deslizando entre o bulício da oficina e os observava da porta com um débil sorriso entre os lábios.
É provável que se Brant e Jon tivessem tido que descrever Yradne, teria parecido que estavam falando de duas pessoas completamente diferentes. Existiriam superficiais pontos de semelhança, é obvio. Ambos teriam concordado em que seu cabelo era castanho, seus olhos grandes e azuis, e sua pele da mais rara cor: um branco quase perolado. Mas para Jon parecia uma criatura frágil, para ser mimada e protegida; enquanto que para Brant, sua confiança em si mesma e sua completa segurança eram tão óbvias que não esperava lhe ser útil alguma vez. Parte essa diferença na atitude, devia-se aos quinze centímetros de altura e vinte de torso com que se avantajava Jon, mas principalmente nascia de causas psicológicas mais profundas. A pessoa que alguém ama nunca existe: é uma imagem projetada pelas lentes da mente sobre a tela que produz a menor distorção. Brant e Jon tinham ideais muito diferentes e cada um deles acreditava que Yradne os encarnava. Isto a ela não teria surpreendido nem um pouco, pois poucas coisas a surpreendiam.
— Vou ao rio — disse. — Passei para te buscar no caminho, Brant, mas tinha saído.
Esse era um golpe para o Jon, mas ela logo igualou as coisas.
— Pensei que teria saído com Lorayne ou alguma outra garota, mas sabia que encontraria Jon em casa.
Jon pareceu um pouco feliz por essa afirmação tão inexata e gratuita. Enrolou os desenhos e correu para a casa, gritando feliz por cima do ombro:
— Me esperem; não demorarei!
Brant não afastou os olhos do Yradne enquanto se balançava incomodamente de um pé ao outro. Na realidade, ela não tinha convidado ninguém para ir com ela e até que o dissesse explicitamente, se manteria em seu lugar. Mas recordou um antigo refrão que dizia que se dois eram companhia, três eram o oposto.
Jon retornou, resplandecente em uma assombrosa capa verde com explosões diagonais de vermelho nos lados. Só um homem muito jovem podia usar algo assim com êxito, e apenas Jon o conseguia. Brant se perguntou se teria tempo de ir em casa e ficar um pouco mais surpreendente ainda, mas esse seria um risco muito grande. Seria fugir ante o inimigo; a batalha poderia ter terminado antes que ele conseguisse seus reforços.
— Toda uma multidão — falou o velho Johan. — Se importariam se eu os acompanhasse?
Os moços emudeceram, mas Yradne lançou uma risada alegre que tornou difícil o velho sentir antipatia para ela. Johan ficou na porta um momento, sorrindo enquanto eles se afastavam entre as árvores e desciam correndo a encosta coberta de pasto que levava ao rio. Mas logo seus olhos deixaram de segui-los e se perdeu nos sonhos mais inúteis que possa ter o homem: os sonhos da perdida juventude. Logo deu as costas ao sol e já sem sorrir se afundou no atarefado tumulto da oficina.
Agora o sol se elevava para o norte, passando o Equador; os dias logo seriam mais compridos que as noites, e o inverno estava definitivamente em fuga. As incontáveis aldeias do hemisfério se preparavam para receber a primavera. Com a morte das grandes cidades e o retorno aos campos e aos bosques, o homem tinha retornado também a muitos dos antigos costumes, latentes durante mil anos de civilização urbana. Alguns desses costumes tinham sido revividos deliberadamente pelos antropólogos e engenheiros sociais do terceiro milênio, cujo talento tinha preservado tantos modelos de conduta através dos séculos. Assim, recebiam o equinócio da primavera ainda com rituais que, apesar de toda sua sofisticação, tinham parecido menos estranhos ao homem primitivo que ao povo das cidades industriais cuja fumaça tinha manchado uma vez os céus da Terra.
Os preparativos para o Festival da Primavera eram sempre objeto de muita intriga e disputas entre as aldeias vizinhas. Embora significassem a interrupção de toda outra atividade pelo menos durante um mês, qualquer aldeia se sentia muito honrada se fosse escolhida como anfitriã das celebrações. É obvio que não se esperaria que uma comunidade recém-instalada, que ainda estava se recuperando de seu transplante, tomasse semelhante responsabilidade. O povo do Brant, não obstante, tinha idealizado uma forma engenhosa de recuperar o favor e de apagar a mancha de sua recente desonra. Em um raio de cento e cinqüenta quilômetros havia outras cinco aldeias, e todas tinham sido convidadas a Chaldis para o Festival.
O convite tinha sido redigido cuidadosamente. Sugeria delicadamente que, por razões óbvias, Chaldis não podia preparar um cerimonial tão elaborado como queria; isto significava que, se os convidados desejavam realmente divertir-se, seria melhor que fossem a outra parte. Chaldis esperava, como muito, uma só presença, mas a curiosidade dos vizinhos venceu seu sentimento de superioridade moral. Todos aceitaram encantados; e agora Chaldis não podia fugir de sua responsabilidade.
No vale não havia noite e se dormia pouco. Por cima das árvores, muito alta, ardia uma fila de sóis artificiais, com um constante brilho branco azulado, que desterrava às estrelas e à escuridão, desequilibrando a rotina natural de todas as criaturas selvagens quilômetros à volta. Durante dias cada vez mais longos e noites cada vez mais curtas, homens e máquinas lutavam para terminar o grande anfiteatro, necessário para receber umas quatro mil pessoas. Em um sentido, ao menos, eram afortunados: nesse clima não fazia falta teto ou calefação. Na terra que tinham deixado de tão má vontade, a neve cobriria ainda o chão até fins de março.
No grande dia, o estrondo da frota aérea cedo despertou Brant. Desesperou-se, cansado, querendo se deitar de novo, e depois se vestiu. Um chute a um computador escondido e o retângulo de borracha espumosa, dois centímetros sob o nível do piso, foi completamente escondido por uma lâmina plástica que saiu da parede. Não havia lençóis pelos quais preocupar-se, porque o quarto se mantinha automaticamente à temperatura do corpo. Em muitos sentidos, a vida de Brant era mais fácil que a de seus remotos antepassados, graças aos esforços incessantes e quase esquecidos de cinco mil anos de ciência.
A luz que entrava através de uma parede translúcida iluminava brandamente o quarto, incrivelmente despojado. O único espaço livre no espaço era o que ocultava a cama, e possivelmente teria que limpá-lo outra vez ao anoitecer. Brant era um grande entesourador, e odiava jogar alguma coisa fora, característica bastante incomum em um mundo onde poucas coisas tinham valor, pois podiam ser fabricadas facilmente. Mas os objetos que Brant juntava não eram os que os integradores costumavam criar. Em um canto havia um pequeno tronco de árvore, apoiado contra a parede, parcialmente esculpido em forma vagamente antropomórfica. Espalhados no chão se viam grandes pedaços de arenito e mármore esperando o momento em que Brant decidisse trabalhá-los. As paredes estavam completamente cobertas de pinturas, a maioria abstratas. Necessitava-se pouca inteligência para deduzir que Brant era um artista; mas não era tão fácil decidir se era um artista bom.
Caminhou entre os escombros e foi procurar comida. Não havia cozinha; alguns historiadores sustentavam que tinha sobrevivido até 2500 d. C., mas muito antes a maioria das famílias fazia suas próprias comidas tão freqüentemente como suas roupas. Brant entrou na sala principal e se aproximou de uma caixa metálica colocada na parede à altura do peito. No centro havia algo familiar a qualquer ser humano dos últimos cinco séculos: um dial de dez números. Brant clicou um número de quatro cifras e esperou. Não aconteceu absolutamente nada. Algo incomodado, apertou um botão oculto, e a frente do aparelho se abriu, mostrando um interior onde, segundo todas as regras, deveria haver um apetitoso café da manhã. Estava completamente vazio.
Brant podia chamar a máquina central de alimentação e pedir que lhe explicassem o acontecido, mas provavelmente não obteria resposta. O que tinha se passado era óbvio: o departamento de provisões estava tão ocupado preparando-se para o sobrepeso do dia, que teria sorte se conseguisse um pouco de café da manhã. Limpou o circuito e tentou outra vez com um número pouco usado. Desta vez houve um suave zumbido, um estalo surdo, e as comportas deslizaram mostrando uma taça onde havia uma bebida escura e fumegante, uns sanduíches pouco alentadores e uma grande fatia de melão. Enrugando o nariz e perguntando-se quanto tempo demoraria a humanidade para deslizar de novo para a barbárie, Brant engoliu rapidamente o desjejum não substitutivo.
Os pais de Brant dormiam ainda quando ele saiu silenciosamente da casa para a ampla praça coberta de grama, no centro da aldeia. Era ainda muito cedo e o ar estava frio, mas o dia era diáfano e formoso, com essa frescura que raramente fica depois do verão. Sobre a grama, várias naves vomitavam passageiros que se reuniam em círculos ou saíam em várias direções, a olhar Chaldis com olhos críticos. Enquanto Brant olhava, uma das máquinas voltou rapidamente para o céu, deixando um débil rastro de ionização. Um momento depois a seguiram as outras; só podiam transportar umas poucas dúzias de passageiros, e deveriam fazer várias viagens antes que finalizasse o dia.
Brant caminhou até onde estavam os visitantes, tratando de parecer seguro de si mesmo, embora não tão distante para desalentar todo contato. A maioria daqueles estrangeiros era de sua idade; os mais velhos chegariam a uma hora mais razoável.
Olhavam-no com uma curiosidade franca, que ele devolvia com interesse. Notou que a pele deles era muito mais escura que a sua, e as vozes mais suaves e menos moduladas. Alguns tinham um pouco de sotaque, pois apesar de uma linguagem universal e da comunicação foto instantânea existiam ainda variações regionais. Pelo menos Brant supôs que eram eles quem tinha sotaque; mas uma ou duas vezes notou que sorriam quando ele falava.
Durante toda a manhã os visitantes se reuniram na praça e caminharam até a grande areia cruelmente recortada no bosque. Havia ali brilhantes bandeiras e muitos gritos e risadas, pois a manhã era para a alegria dos jovens. Embora Atenas (como um farol que se consome lentamente, mas que não morre) tivesse sido arrastada pelo rio do tempo durante dez mil anos, as pautas esportivas tinham mudado pouco desde aqueles primeiros dias olímpicos. Os homens ainda corriam e saltavam e lutavam e nadavam; mas o faziam muito melhor que seus antepassados. Brant era bom em corridas de distâncias curtas, e conseguiu finalizar em terceiro nos cem metros. Seu tempo estava justo sobre os oito segundos, o que não era muito bom, pois o recorde era menos de sete. Brant teria ficado muito surpreso em saber que houve uma época em que ninguém no mundo poderia ter alcançado essa cifra.
Jon se divertia muito, atirando jovens até maiores que ele sobre a grama e quando se somaram os resultados da manhã, Chaldis tinha mais pontos que qualquer dos visitantes, embora tivesse sido primeiro em poucos eventos.
Ao se aproximar o meio-dia a multidão começou a fluir como uma ameba para a Clareira dos Cinco Carvalhos, onde os sintetizadores moleculares tinham estado trabalhando desde as primeiras horas, para cobrir centenas de mesas com comida. Investiu-se muito, destramente, em preparar os protótipos, reproduzidos com absoluta fidelidade até o último átomo; pois embora a mecânica da produção de mantimentos tivesse mudado completamente, a arte do chef sobrevivia ainda, obtendo inclusive vitórias nas quais a Natureza não participava.
A principal atração da tarde era um longo drama poético: um pastiche armado com considerável habilidade a partir das obras de poetas cujos nomes estavam esquecidos desde séculos. Brant o achou aborrecido, embora alguns versos belos ficassem em sua memória:
Pois as chuvas e ruínas do inverno passaram,
e todas as estações de neves e pecados...
Brant conhecia a neve, e se alegrava de havê-la deixado. O pecado, não obstante, era uma palavra arcaica, fora de uso desde fazia já três ou quatro mil anos, mas que tinha uma conotação sinistra e emocionante.
Não encontrou Yradne quase até o crepúsculo, quando tinha começado o baile. Por cima do vale ardiam agora umas luzes flutuantes, inundando os bosque de cambiantes desenhos azuis, vermelhos e dourados. Em grupos de dois, e três, e logo em dúzias e centenas, os bailarinos saíram para o grande ovalóide do anfiteatro, e o transformaram em muitas alegres e giratórias formas. Nisto, pelo menos, Brant podia vencer completamente Jon e se deixou arrastar pela maré do puro gozo físico.
A música abrangia todo o espectro da cultura humana. Em um momento, o ar vibrou com o batimento do coração de tambores que podiam ter chamado desde alguma selva primitiva quando o mundo era jovem; e pouco depois sutis instrumentos eletrônicos teciam intrincadas tapeçarias de quartos de tom. As estrelas olhavam palidamente do alto, cruzando o céu, mas ninguém as via e ninguém pensava no passado do tempo.
Brant dançou com muitas jovens antes de encontrar Yradne. Estava muito formosa, transbordante de alegria, e não demonstrava nenhuma pressa em reunir-se com ele, quando havia tantos outros para escolher. Mas finalmente dançaram juntos no redemoinho e Brant sentiu muito prazer pensando que Jon estava possivelmente olhando de longe com raiva.
Saíram do baile durante uma pausa da música, porque Yradne anunciou que estava um pouco cansada. Isso pareceu muito bem ao Brant e logo estavam sentados debaixo de uma das grandes árvores observando o fluxo e vazante da vida ao redor, com a displicência que aparece em momentos de completa tranqüilidade.
Foi Brant quem rompeu o encanto. Era necessário e podia passar muito tempo antes que aparecesse outra oportunidade.
— Yradne — disse — por que me estiveste evitando?
Ela o olhou com olhos grandes e inocentes.
— Oh, Brant — respondeu — que injusto é. Sabe que isso não é certo! Oxalá não fosse tão ciumento; não pode esperar que eu te siga todo o tempo.
— Oh, está bem! — disse Brant fracamente, perguntando-se se estaria se comportando como um parvo. Mas agora que tinha começado podia continuar.
— Sabe, algum dia terá que decidir entre nós. Se continua adiando, possivelmente ficará sozinha como suas duas tias.
Yradne soltou uma risada cristalina e sacudiu a cabeça, muito divertida pela idéia que alguma vez podia ser velha e feia.
— Embora você seja muito impaciente — replicou — acredito que posso confiar no Jon. Viu o que me deu de presente?
— Não — disse Brant, com o coração oprimido.
— Mas que pouco observador é! Não notaste este colar?
Sobre o peito, Yradne levava grande quantidade de jóias, suspensas da nuca por uma fina cadeia de ouro. Era um pendente muito fino, mas não tinha nada de especial, e Brant não perdeu tempo em dizer isso. Yradne sorriu misteriosamente, levando os dedos ao pescoço; instantaneamente o ar foi invadido pela música, que primeiro se mesclou com a do baile e logo a cobriu completamente.
— Vê — disse orgulhosamente — em qualquer lugar que vá agora, terei música comigo. Jon diz que há aqui tantos milhares de horas de música que quando se repetir não saberei. Não é engenhoso?
— Possivelmente — disse Brant a contragosto — mas não é exatamente novo. Em outra época todos costumavam levá-lo, até que não houve silêncio em parte alguma da Terra e tiveram que proibi-los. Pensa que caos seria se todos o tivéssemos!
Zangada, Yradne se separou dele.
— Outra vez o mesmo; sempre ciumento de algo que você não pode fazer. O que você me deu onde haja a metade do talento ou da utilidade disto? Vou, e trate de não me seguir!
Brant ficou boquiaberto olhando como ela se afastava, desconcertado pela violência dessa reação. Logo a chamou:
— Yradne, não queria...!
Mas ela já se fora.
Brant saiu do anfiteatro de muito mau-humor. Racionalizar a causa da explosão de Yradne não o ajudava absolutamente. Suas observações, embora despeitadas, eram certas, e às vezes não há nada mais incômodo que a verdade. O presente do Jon era um brinquedo engenhoso, mas corriqueiro, interessante tão somente porque agora era único.
Ainda sentia raiva por algo que lhe havia dito. O que tinha dado em Yradne? Não tinha mais que as pinturas e realmente não eram muito boas. Ela não tinha mostrado nenhum interesse nessas pinturas quando lhe ofereceu algumas das melhores, e foi muito difícil lhe explicar que não era um pintor de retratos e que preferiria não fazer um retrato dela. Yradne nunca tinha compreendido isso, e tinha sido muito delicado não ferir seus sentimentos. Brant gostava de inspirar-se na Natureza, mas nunca copiava o que via. Quando um de seus quadros estava terminado (o que acontecia às vezes) o título era freqüentemente a única pista da fonte de inspiração.
A música do baile ainda vibrava ao redor, mas Brant tinha perdido o interesse. Ver outras pessoas que se divertiam era mais do que podia suportar. Decidiu afastar-se da multidão e o único lugar aprazível que pôde recordar, foi rio abaixo, onde terminava o brilhante tapete de musgo fosforescente que atravessava o bosque.
Sentou-se à borda da água, atirando raminhos à corrente e olhando como se afastavam rio abaixo. De vez em quando passavam por ali outros ociosos, mas geralmente eram casais e não lhe emprestavam atenção. Brant os olhava com inveja, e pensava com amargura no insatisfatório estado de seus assuntos.
Quase seria melhor, pensou, que Yradne escolhesse Jon e acabasse assim com seus sofrimentos. Mas ela não parecia preferir nenhum dos dois. Possivelmente, simplesmente se divertia nas costas deles, como dizima algumas pessoas, especialmente o velho Johan; embora também fosse provável que se sentisse seriamente incapaz de escolher. O que faltava, pensou Brant morosamente, era que um deles fizesse algo realmente espetacular, impossível de igualar para o outro.
— Olá — disse uma voz suave detrás dele.
Brant voltou a cabeça e olhou por cima do ombro. Uma menina de uns oito anos o olhava fixo, a cabeça ligeiramente inclinada, como um pardal curioso.
— Olá — respondeu Brant sem entusiasmo — por que não olha o baile?
— E você, por que não está lá? — replicou ela rapidamente.
— Sinto-me cansado — disse Brant, esperando que essa fosse uma desculpa adequada. . Não deveria correr sozinha por aí. Poderia te perder.
— Estou perdida — respondeu a menina, feliz, sentandose na borda, ao seu lado. — Gosto disso.
Brant se perguntou de que aldeia seria. Era uma formosa criatura, embora tivesse sido mais formosa ainda com menos chocolate na cara. Parecia que a solidão de Brant tinha terminado.
A menina o olhou com essa desconcertante franqueza que, possível e felizmente, raras vezes sobrevive à infância.
— Eu sei o que se passa — disse subitamente.
— Sim? — perguntou Brant com cortês ceticismo.
— Está apaixonado!
Brant deixou cair o ramo que estava a ponto de atirar ao rio, e se voltou para olhar a sua interlocutora. Ela o observava com uma compaixão tão solene que toda a piedade que Brant sentia por si mesmo se desfez de repente em uma gargalhada. Isso pareceu magoar a menina, e ele se controlou rapidamente.
— Como te deu conta? — perguntou Brant com grande seriedade.
—Tenho lido sobre o assunto — replicou solenemente. — E uma vez vi um filme em que havia um homem que descia ao rio e se sentava ali igual a você, e depois se jogava nele. Então se ouvia uma música muito bela.
Brant olhou pensativamente para essa menina precoce, e se sentiu aliviado pelo fato que não pertencesse à sua própria comunidade.
— Lamento não poder arrumar a música — disse gravemente — mas, de qualquer forma, o rio não é suficientemente fundo.
— É mais longe — foi a rápida resposta; aqui é tão somente um riacho; não cresce até que deixa os bosques. Vi-o do voador.
— Como é lá? — perguntou Brant, agradecido porque a conversação tinha tomado um rumo mais inócuo. Chega ao mar?
A menina lançou um aborrecido bufo, pouco apropriado para uma dama.
— Claro que não, tolo! Todos os rios deste lado das colinas desembocam no Grande Lago. Sei que é tão grande como um mar, mas o verdadeiro mar está do outro lado das colinas.
Brant sabia muito pouco a respeito dos detalhes geográficos de seu novo lar, mas compreendeu que a menina tinha razão. O oceano estava a menos de trinta quilômetros ao norte, mas separado deles por uma barreira de colinas baixas. Cento e cinqüenta quilômetros terra a dentro, se estendia o Grande Lago, que levava vida às terras que tinham estado desertas antes que os engenheiros geólogos tivessem remodelado esse continente.
A menina-gênio estava fazendo um mapa com raminhos e explicando pacientemente esses assuntos a seu preguiçoso aluno.
— Aqui estamos nós — disse — e aqui está o rio, e as colinas, e o lago está lá junto a seu pé. O mar se estende por aqui... e te contarei um segredo.
— O que é?
— Nunca o adivinharia!
— Suponho que não.
A voz da menina se converteu em um sussurro confidencial.
— Se seguir a costa, que não está muito longe daqui, chegará a Shastar.
Brant tentou parecer impressionado, mas não conseguiu.
— Jamais escutou esse nome! — gritou a menina, profundamente desiludida.
— Lamento — replicou Brant. — Suponho que foi uma cidade e ouvi falar dela em alguma parte. Mas existiram tantas, sabe? Cartago e Chicago e Babilônia e Berlim. Não posso recordar a todas. Igual já não existem.
— Shastar sim. Ainda está ali.
— Bom, algumas das últimas ainda estão em pé, mais ou menos, e a gente as visita freqüentemente. A uns oitocentos quilômetros de meu antigo lar houve uma vez uma grande cidade, chamada...
— Shastar não é qualquer cidade antiga — interrompeu a menina misteriosamente. — Meu avô me contou: ele esteve ali. Não foi arruinada absolutamente e ainda está cheia de coisas maravilhosas que já ninguém tem.
Brant sorriu para si mesmo. As cidades desertas da Terra tinham originado lendas durante séculos. Faria quatro, não, perto de cinco mil anos, que Shastar tinha sido abandonada. Se seus edifícios se mantinham ainda em pé, certamente já não tinham nada de valor neles. Parecia que o avô tinha estado inventando alguns contos de fadas para entreter à criatura. Tinha toda a simpatia de Brant.
Sem notar o ceticismo do moço, a menina seguiu tagarelando. Brant lhe emprestava pouca atenção, intercalando um cortês “sim” ou “imagine isso” segundo a ocasião. De repente, silêncio.
Ergueu os olhos e viu que sua companheira observava com grande desgosto a avenida de árvores que dominava a paisagem.
— Adeus — disse a menina, abruptamente. — Tenho que esconder-me em outra parte: aí vem minha irmã.
Se foi tão subitamente como tinha chegado. Para sua família deve ser difícil cuidá-la, pensou Brant. Mas lhe tinha feito um favor, lhe dissipando a melancolia.
Em poucas horas compreendeu que tinha feito muito mais que isso.
Simon estava apoiado contra a ombreira da porta, olhando passar as pessoas, quando u Brant chegou, buscando-o. Todo mundo acelerava quando tinha que passar frente à porta do Simon, pois este era um conversador infatigável e, uma vez que apanhava uma vítima, não havia escape durante uma hora ou mais. Era muito estranho que alguém se dirigisse voluntariamente às suas garras, como Brant agora.
O problema de Simon era que tinha uma mente de primeira classe e era muito preguiçoso para usá-la. Possivelmente teria sido mais afortunado se tivesse nascido em um século mais enérgico; tudo o que podia fazer em Chaldis era afiar a memória nas costas de outra pessoa, ganhando por isso mais fama que popularidade. Mas era indispensável, pois constituía um armazém de conhecimentos, em sua maior parte, muito exatos.
— Simon — começou Brant sem preâmbulo. s— Quero aprender algo sobre esta região. Os mapas não me dizem muito; são muito novos. O que havia aqui nos velhos tempos?
Simon coçou a barba áspera.
— Não acredito que fosse muito diferente. A quanto tempo atrás te referes?
— Oh, à época das cidades.
— Não havia tantas árvores, é obvio. Esta foi provavelmente uma zona agrícola utilizada para produzir mantimentos. Viu a máquina de lavoura que desenterraram quando se construiu o anfiteatro? Deve ter sido muito antiga; nem sequer era elétrica.
— Sim — disse Brant impacientemente. — A vi. Mas me diga algo sobre as cidades da região. De acordo com o mapa houve um lugar chamado Shastar, umas centenas de quilômetros ao oeste, sobre a costa. Sabe algo disso?
— Ah, Shastar — murmurou Simon, se dando um tempo. — Um lugar muito interessante; acredito que, inclusive, tenho uma foto em alguma parte. Espera um momento, vou ver.
Simon desapareceu dentro da casa por uns cinco minutos. Nesse tempo efetuou uma busca intensiva na biblioteca, embora um homem da época dos livros dificilmente o tivesse adivinhado. Todos os arquivos que Chaldis possuía estavam em uma caixa-forte metálica de um metro de comprimento; continha, encerrado perpetuamente em moldes subatômicos, o equivalente a um bilhão de volumes impressos. Quase todos os conhecimentos da humanidade e toda a literatura sobrevivente, escondiam-se ali.
Não era um simples armazém de sabedoria, pois tinha uma bibliotecária. Simon fez seu pedido à incansável máquina e, capa por capa, começou a busca através de uma rede quase infinita de circuitos. Levou só uma fração de segundo para localizar a informação que necessitava, pois tinha dado o nome e a data aproximada. Então descansou sob uma suave auto-hipnose, enquanto as imagens mentais lhe inundavam o cérebro. O conhecimento permaneceria em sua posição umas poucas horas somente, o tempo que o necessitava, e logo se desvaneceria. Simon não desejava alvoroçar seu bem organizado cérebro com minúcias e para ele toda a história do apogeu e a queda das grandes cidades era uma digressão histórica sem importância. Era um episódio interessante, embora lamentável, e pertencia a um passado irreparavelmente morto.
Brant esperava pacientemente quando Simon saiu com aspecto de sábio.
— Não pude encontrar nenhuma foto — disse. — Minha mulher esteve arrumando outra vez. Mas te direi o que posso recordar sobre Shastar.
Brant se instalou o mais comodamente que pôde; era provável que tivesse que ficar ali durante um tempo.
— Shastar foi uma das últimas cidades que o homem construiu. Já sabe que as cidades apareceram muito tarde na cultura humana: fará uns doze mil anos. Cresceram em número e importância durante vários milhares de anos, até que finalmente algumas alojaram milhões de pessoas. É muito difícil para nós imaginar o que deve ter sido viver em lugares semelhantes: desertos de aço e pedra sem uma fibra de grama em quilômetros. Mas eram necessárias antes que os transportes e as comunicações fossem aperfeiçoados, e as pessoas tinham que viver as umas perto das outras para levar a cabo as complicadas operações de comércio e fabricação das quais dependiam suas vidas. As cidades realmente grandes começaram a desaparecer quando o transporte aéreo se tornou universal. A ameaça de ataque naqueles dias longínquos e bárbaros ajudou também a dispersá-las. Mas durante longo tempo...
— Eu estudei a história desse período — interrompeu Brant, mesmo não sendo muito verdadeiro — Sei tudo sobre...
—... durante longo tempo foram muitas as cidades pequenas unidas por vínculos bem mais culturais que comerciais. Tinham populações de vários milhares e duraram séculos, logo depois da morte das gigantes. É por essa razão que Oxford e Princeton e Heidelberg ainda significam algo para nós, enquanto que cidades maiores não são mais que nomes. Mas até mesmo essas foram condenadas quando a invenção do integrador fez possível que qualquer comunidade, por pequena que fosse, pudesse fabricar sem esforço o que necessitava para a vida civilizada. Shastar foi edificada quando já não havia mais necessidade, tecnicamente, de cidades, mas antes que as pessoas compreendessem que a cultura das cidades estava chegando a seu fim. Parece ter sido uma obra de arte concebida e desenhada como um todo, e aqueles que a habitaram foram em sua maioria artistas. Mas não durou muito; o que finalmente a matou foi o êxodo.
Simon se calou subitamente, como se pensasse com melancolia naqueles séculos tumultuados, quando se tinha aberto o caminho para as estrelas e o mundo se dividiu em dois. Ao longo desse caminho, a flor da raça se foi, deixando o resto para trás; e logo pareceu que a história tinha chegado a seu fim na Terra. Durante mil anos ou mais, os exilados retornaram fugazmente ao Sistema Solar, ansiosos em falar sobre sóis estranhos e planetas longínquos, e do grande império que algum dia abrangeria toda a galáxia. Mas há abismos que nem sequer as naves mais velozes podem cruzar; e um abismo semelhante estava se abrindo agora entre a Terra e suas errantes criaturas. Tinham cada vez menos em comum. As naves retornavam cada vez com menos freqüência, até que por fim passaram gerações inteiras entre as visitas do exterior. Simon não tinha ouvido falar de nenhuma, pelo menos durante os últimos trezentos anos.
Não era habitual ter que aguilhoar Simon para que falasse. Brant comentou:
— De toda forma, estou mais interessado no lugar mesmo que em sua história. Crê que ainda está em pé?
— Estava a ponto de chegar a isso — disse Simon, voltando de seus sonhos com um sobressalto. — É obvio que sim; construíam bem naquela época. Mas por que está tão interessado, pode-se saber? Terá desenvolvido repentinamente uma entristecedora paixão pela arqueologia? Oh, acredito que entendo!
Brant compreendeu a inutilidade de esconder algo a um fofoqueiro profissional como Simon.
— Tinha a esperança — disse na defensiva— que ainda houvesse coisas ali que valesse a pena ir procurar, mesmo depois de todo este tempo.
— Possivelmente — disse Simon dubitativamente. — Devo visitá-la algum dia. Está quase na porta. Mas como arrumará isso? A aldeia dificilmente te emprestará um voador. E não pode ir caminhando. Levaria pelo menos uma semana para chegar lá.
Mas isso era exatamente o que Brant pensava fazer. Como tomou cuidado em falar a quase todo mundo na aldeia durante os dias seguintes: uma coisa não valia a pena se não se fazia da forma difícil. Não havia nada como fazer uma virtude de uma necessidade.
Brant realizou os preparativos em um segredo sem precedentes. Não desejava ser muito explícito quanto a seus planos, se por acaso alguma das doze pessoas que tinham direito a usar um dos voadores de Chaldis decidisse ver Shastar primeiro. Que isso sucedesse era naturalmente questão de tempo, mas a febril atividade dos últimos meses tinha impedido esse tipo de explorações. Nada seria mais humilhante que entrar cambaleando em Shastar, depois de uma semana de viagem, só para ser friamente saudado por um vizinho que tivesse feito a excursão em dez minutos.
Por outro lado, era igualmente importante que a aldeia em geral, e Yradne em particular, compreendessem que estava realizando um esforço excepcional. Só Simon sabia a verdade, e a contragosto aceitou calar-se no momento. Brant esperava haver distraído a atenção de seu objetivo verdadeiro, mostrando grande interesse no território a leste de Chaldis, que também continha várias relíquias arqueológicas de certa importância.
Era surpreendente a quantidade de comida e equipamento que se necessitava para uma ausência de duas ou três semanas, e os primeiros cálculos o jogaram em um estado de profunda tristeza. Durante um tempo pensou inclusive em pedir emprestado um voador, mas certamente seu pedido seria rechaçado, e isso frustraria a finalidade da empresa. E, entretanto, quase lhe resultava impossível levar tudo o que necessitava para a excursão.
A solução teria sido óbvia em uma era menos mecanizada, mas Brant demorou algum tempo em pensar nela. A máquina voadora tinha matado todas as formas de transporte por terra, salvo uma, a mais antiga e versátil de todas; a única que se perpetuava a si mesma e que podia se arrumar muito bem, como já o tinha feito antes, sem ajuda alguma da parte do homem. Chaldis possuía seis cavalos, um número bem pequeno para uma comunidade desse tamanho. Em algumas aldeias havia mais cavalos que seres humanos, mas o povo do Brant, vivendo em uma região selvagem e montanhosa, tinha tido muito poucas oportunidades de fazer equitação. O mesmo Brant tinha montado a cavalo só duas ou três vezes em sua vida, por muito breves períodos.
O semental e as cinco éguas estavam a cargo do Treggor, um homenzinho que não tinha outro interesse na vida que os animais. Não era um dos intelectos que se sobressaíam em Chaldis, mas parecia muito feliz manejando seu zoológico privado, o qual incluía cães de formas e tamanhos diversos, um par de castores, vários macacos, um filhotinho de leão, dois ursos, um crocodilo jovem e outras bestas mais usualmente admiradas de longe. Só um pesar lhe obscurecia a vida: até o momento não tinha podido conseguir um elefante.
Brant encontrou Treggor, como o esperava, apoiado na porta do pasto. Com ele estava um estranho, que foi apresentado como um aficionado por cavalos de uma aldeia vizinha. A curiosa semelhança entre ambos os homens, da forma de vestir-se até as mesmas expressões faciais, fazia essa explicação desnecessária.
Sempre se sente um certo nervosismo frente a peritos inegáveis e Brant esboçou seu problema com certo acanhamento. Treggor escutou gravemente e se calou por um longo momento antes de responder.
— Sim — disse lentamente, apontando o polegar para as éguas — qualquer delas serviria... se soubesse como dirigi-las. — Olhou Brant com certa dúvida.
— São como seres humanos; sabe; se não gostarem, não pode fazer nada com eles.
— Absolutamente nada — repetiu o estranho, com evidente frustração.
— Mas poderia me ensinar a dirigi-las?
— Possivelmente sim, possivelmente não. Recordo um jovem igual a você que queria aprender a montar. Os cavalos simplesmente não o deixavam aproximar-se. Não gostavam, e não pudemos fazer nada.
— Os cavalos sabem — interveio o outro bruscamente.
— Assim é — adicionou Treggor. — Tem que compreendê-los. Sendo assim, não tem por que preocupar-se.
Depois de tudo havia muito que dizer a favor da máquina menos temperamental, pensou Brant.
— Não quero montar — respondeu com certo temor. — Só quero um cavalo que leve meu equipamento. O cavalo pode se expor a isso?
O leve sarcasmo foi completamente desperdiçado. Treggor assentiu solenemente.
— Isso não seria problema — disse. — Todos deixarão que os leve com um cabresto; todos menos Daisy. Nunca deixaria que a apanhasse.
— Então pensa que poderia me emprestar um dos mais dóceis..., durante um tempo?
Treggor deu uns passos, atormentado por dois desejos em conflito. Estava encantado do fato que alguém queria usar suas amadas bestas, mas temia que pudessem sofrer algum dano. Todo prejuízo que pudesse sobrevir ao Brant era de importância secundária.
—Bom — começou, inseguro — é um pouco delicado neste momento...
Brant olhou as éguas com mais vagar, e compreendeu por que. Só uma estava acompanhada por um potro, mas era óbvio que essa deficiência seria corrigida logo. Aqui havia outra complicação que não tinha previsto.
— Quanto tempo estará fora? — perguntou Treggor.
— Três semanas como máximo; possivelmente só duas.
Treggor fez uns rápidos cálculos ginecológicos.
— Então pode levar Sunbeam — decidiu. — Não te criará problemas; é o animal melhor que tive.
— Muito obrigado — disse Brant. — Prometo que cuidarei dela. Se importaria de nos apresentar?
— Não vejo por que devo fazer isto — resmungou Treggor, de bom humor, enquanto ajustava as cestas sobre as suaves ancas de Sunbeam — já que nem sequer me diz aonde vai ou o que espera encontrar.
Brant não poderia ter respondido à última pergunta, mesmo se tivesse querido. Nos momentos mais racionais sabia que não haveria nada de valor em Shastar. Além disso, era difícil pensar em algo que seu povo já não possuísse, ou que não pudesse obter instantaneamente se o desejasse. Mas a excursão em si mesma seria a prova, a mais convincente que pôde conceber, de seu amor por Yradne.
Não havia dúvida que ela estava muito impressionada por seus preparativos, e ele sublinhou os perigos que estava a ponto de enfrentar. Seria muito incômodo dormir em campo aberto e teria uma dieta muito monótona. Até podia perder-se e não voltar a ser visto. E se ainda existissem bestas selvagens, perigosas, nas colinas ou nos bosques?
O Velho Johan, a quem não interessavam as tradições históricas, protestou: era indigno que um ferreiro tivesse algo que ver com um sobrevivente tão primitivo como um cavalo. Por causa disso Sunbeam o mordeu delicadamente, com grande habilidade e precisão, enquanto ele se inclinava para examinar as ferraduras. Mas Johan confeccionou rapidamente um jogo de cestas, nas quais Brant poderia colocar tudo o que necessitava para a viagem; inclusive os materiais de desenho, dos quais não quis separar-se. Treggor o assessorou no que se referia aos detalhes técnicos do arnês, mostrando antigos protótipos que consistiam principalmente em cordas.
Ainda era de manhã cedo quando terminaram os preparativos. Brant quis que a partida fosse o mais discreta possível, e o êxito completo o mortificou um pouco. Só Jon e Yradne foram despedir-se.
Caminharam em pensativo silêncio até o fim da aldeia e atravessaram a fina ponte metálica que cruzava o rio. Então Jon disse asperamente:
—Bom, não vás quebrar a cabeça.
Deu-lhe um apertão de mãos e se foi, deixando-o sozinho com Yradne. Foi um belo gesto, e Brant o apreciou.
Aproveitando as preocupações do amo, Sunbeam começou a mastigar ruidosamente entre os largos pastos da ribeira. Brant se balançou indeciso sobre os pés. Depois disse sem entusiasmo:
— Suponho que seja melhor que vá.
— Quanto tempo estará fora? —perguntou Yradne. Não usava o presente do Jon; possivelmente já se cansara de usá-lo. Brant assim o esperava; logo compreendeu que com a mesma velocidade ela poderia perder interesse naquilo que lhe trouxesse para a volta.
— Oh, um par de semanas, se tudo correr bem — acrescentou.
— Tome cuidado — disse Yradne, um pouco preocupada — e não faça nada imprudente.
— Tentarei — respondeu Brant, sem fazer ainda nenhum movimento para partir — mas às vezes terei que arriscar-me.
Essa desarticulada conversação poderia ter durado muito mais, se Sunbeam não tivesse se metido. Brant recebeu um súbito puxão no braço, e foi empurrado a um trote veloz. Tinha recuperado o equilíbrio e ia despedir-se, quando Yradne se aproximou correndo, deu-lhe um grande beijo e desapareceu para a aldeia antes que ele se recuperasse.
Quando Brant já não podia vê-la, Yradne caminhou mais lentamente. Jon ainda ia muito adiante, mas não tentou alcançá-lo. Invadia-a um estranho sentimento de solenidade, que não combinava com essa manhã da primavera. Era muito agradável ser amada, mas tinha suas desvantagens se se pensava mais à frente do momento imediato. Por um instante Yradne se perguntou se teria sido justa com Jon, com Brant... até consigo mesma. Alguma vez teria que decidir-se; não podia postergá-lo indefinidamente. Entretanto lhe parecia impossível, embora apostasse a vida nisso, decidir qual dos moços preferia; e tampouco sabia se amava a algum dos dois.
Ninguém lhe havia dito e ela ainda não o tinha descoberto que, quando se precisa perguntar “Estou realmente apaixonada?”, a resposta sempre é “Não”.
Além de Chaldis, o bosque se estendia uns oito quilômetros para o leste, depois se perdia na grande planície que atravessava o resto do continente. Seis mil anos atrás esse território tinha sido um dos maiores desertos do mundo, e sua transformação constituiu um dos primeiros lucros da Era Atômica.
Brant se propunha ir para o leste até sair do bosque, e logo virar para as terras altas do norte. De acordo com os mapas, tinha havido uma vez uma estrada passando pelo espinhaço das colinas, que unia todas as cidades da costa, formando uma cadeia que terminava em Shastar. Devia ser fácil seguir os rastros dessa estrada, embora Brant não esperasse que muita coisa da estrada tivesse sobrevivido aos séculos.
Mantinha-se perto do rio, esperando que não houvesse mudado seu curso desde que foram feito os mapas. Era seu guia e também seu caminho através do bosque; quando o bosque era muito espesso, ele e Sunbeam podiam sempre vadear a água pouco profunda. Sunbeam cooperava muito; não havia pasto ali que a distraísse, de modo que trabalhava em excesso, metodicamente, sem necessidade de empurrá-la muito.
Depois do meio-dia as árvores começaram a escassear. Brant chegou à fronteira que, século após século, tinha partido através das terras que o Homem já não desejava conservar. Pouco depois o bosque ficou atrás e saiu à planície aberta.
Confirmou sua posição no mapa e notou que as árvores tinham avançado uma distância apreciável para o leste desde que aquele mapa fora desenhado. Mas havia uma rota claramente marcada para o norte pelas colinas baixas, ao longo da quais corria a antiga estrada, e deveria poder alcançá-la antes do anoitecer.
A esta altura apareceram certas dificuldades de natureza técnica. Sunbeam, ao encontrar-se rodeada do mais apetitoso pasto que vira em muito tempo, detinha-se a cada três ou quatro passos para arrancar um bocado. Como Brant ia sujeito à brida por uma corda bem mais curta, as sacudidas quase lhe deslocavam o braço. Alongar a corda piorou ainda mais as coisas, porque já então não tinha controle.
Brant gostava de muito os animais, mas logo ficou claro que Sunbeam simplesmente se aproveitava de sua bondade. Suportou durante um quilômetro e logo foi até uma árvore que parecia ter ramos particularmente finos e flexíveis. Sunbeam olhou cautelosamente da extremidade de seus limpos olhos marrons enquanto ele cortava uma varinha fina e elástica e a colocava ostensivamente no cinturão. Então se pôs a andar tão velozmente que Brant quase não pode segui-la.
Como dizia Treggor, era uma besta muito inteligente.
A cadeia de colinas, que era o primeiro objetivo de Brant, tinha menos de setecentos metros de altura, e o declive era muito suave. Mas havia numerosas colinas e vales menores que atravessavam o caminho ao topo e era quase de noite quando chegaram ao ponto mais alto. Ao sul, Brant podia ver o bosque que tinham atravessado e que já não lhe punha mais obstáculos. Chaldis estava no meio, embora só tivesse uma idéia aproximada de sua localização. Surpreendeu-lhe não poder distinguir as grandes clareiras que seu povo tinha feito. Para o sudeste, a planície se estendia sem fim, um mar plano, de grama manchada de florzinhas. Perto do horizonte, Brant viu uns pontos diminutos e móveis e pensou em uma grande manada de animais selvagens.
Para o norte, só a vinte quilômetros, descendo o longo declive e do outro lado das terras baixas, estava o mar. Parecia quase negro à luz do crepúsculo, exceto onde uns minúsculos escolhos o manchavam de espuma.
Antes da queda da noite, Brant encontrou um oco contra o vento, amarrou Sunbeam a um vigoroso arbusto e arrumou a pequena barraca que o velho Johan tinha inventado para ele. Nesta teoria era uma operação muito simples, mas como muita gente tinha descoberto antes, podia provar a fundo a destreza e a paciência. Por fim tudo estava preparado e ele se instalou para passar a noite.
Há coisas que ninguém, por mais inteligente que seja, pode antecipar, e que só podem ser aprendidas pela amarga experiência. Quem teria imaginado que o corpo humano fosse tão sensível à quase imperceptível inclinação do chão? Mais incômodas ainda eram as minúsculas diferenças térmicas entre um ponto e outro, ocasionadas possivelmente pelas correntes de ar que pareciam mover-se livremente através da barraca. Brant poderia ter suportado uma temperatura mais ou menos uniforme, mas as imprevistas variações o enlouqueciam.
Uma dúzia de vezes despertou do espasmódico sonho, ou assim lhe pareceu e, lá para a alvorada, seu estado de ânimo tinha alcançado o ponto mais baixo. Sentia-se desgraçado e transido, como se não tivesse dormido bem durante dias, e não teria sido necessária muita persuasão para fazê-lo abandonar toda a empresa. Estava disposto, e o teria feito com gosto, a enfrentar perigos pela causa do amor; mas o lumbago era algo muito diferente.
Os desconfortos da noite foram logo esquecidos na glória do novo dia. Nas colinas o ar fresco tinha um sotaque a sal, que chegava no vento do mar. O orvalho cobria tudo, pendurando espesso de cada fibra de grama; mas logo seria destruído, quando subisse o sol. Era bom estar vivo; era melhor ser jovem, e melhor ainda estar apaixonado.
Puseram-se a andar e em seguida chegaram à estrada. Brant não a tinha encontrado antes porque estava mais abaixo no declive que levava ao mar, e ele esperava encontrá-la no topo da colina. Estava soberbamente construída e os milênios quase não a haviam estragado. A natureza tinha tratado inutilmente de destruí-la; aqui e lá tinha conseguido enterrar uns poucos metros com um ligeiro manto de terra, mas logo seus servos fizeram o contrário: o vento e a chuva a tinham limpado de novo. Em uma grande linha ininterrupta, seguindo a borda do mar, mais de mil e quinhentos quilômetros, a estrada ainda unia as cidades que o Homem amara em sua infância.
Era uma das grandes estradas do mundo. Uma vez tinha sido só um caminho pela qual as tribos selvagens desciam ao mar para permutar com ardilosos negociadores de olhos brilhantes, vindos de terras longínquas. Logo tinha conhecido amos novos e mais exigentes; os soldados de um poderoso império tinham dado forma à estrada ao longo das colinas, com tanta destreza que o percurso que lhe deram permaneceu inalterado através dos séculos. Haviam-na pavimentado com pedras, para que seus exércitos pudessem mover-se mais rapidamente que qualquer dos exércitos que o mundo tinha conhecido; e, ao longo da estrada, suas legiões tinham sido arrojadas como centelhas à cidade cujo nome levavam. Séculos depois, essa cidade os tinha chamado em sua agonia e a estrada tinha descansado então durante quinhentos anos.
Mas haveria ainda outras guerras; sob as bandeiras da meia-lua, os exércitos do Profeta se lançariam para o Ocidente, sobre a cristandade. Séculos mais tarde ainda, a maré dos últimos e maiores conflitos se apresentaria aqui, quando monstros de aço se chocaram no deserto, e do mesmo céu se derramou a morte.
Os centuriões, os paladinos, as divisões encouraçadas, até mesmo o deserto: tudo desapareceu. Mas a estrada permanecia, pois de todas as criações humanas era a mais duradoura. Muitos séculos tinha suportado cargas; e agora, ao longo de seus mil e quinhentos quilômetros, não levava mais trânsito que um moço e um cavalo.
Brant seguiu a estrada durante três dias, mantendo-se sempre à vista do mar. Havia se acostumado aos pequenos desconfortos da existência nômade e as noites já não lhe pareciam intoleráveis. O tempo estava perfeito: dias longos, quentes, e noites temperadas. Mas o encanto desapareceria logo.
Na tarde do quarto dia, calculou que estava a menos de oito quilômetros de Shastar. A estrada se afastava agora da costa, para evitar um grande promontório que aparecia perto do mar. Mais à frente estava a protegida baía, ao longo da qual tinham construído a cidade; depois das terras altas, a estrada dobrava para o norte, riscando uma grande curva e baixando das colinas sobre Shastar.
Perto do crepúsculo Brant compreendeu que não poderia esperar ver seu objetivo durante o dia. O tempo piorava e ameaçadoras nuvens se acumulavam velozmente do oeste. Agora caminharia costa acima, pois a estrada subia lentamente depois de cruzar a última colina, nas garras de uma ventania. Se tivesse encontrado um lugar protegido teria acampado, mas às suas costas, a colina estava nua por vários quilômetros, e a única saída era seguir adiante.
Frente a ele, ao longe, sobre o topo mesmo da colina, algo chato e escuro se desenhava no céu. A esperança de encontrar amparo fez Brant respirar. Sunbeam, a cabeça baixa contra o vento, trabalhava em excesso a seu lado com igual determinação.
Estavam ainda a um quilômetro da cúpula quando começou a cair a chuva, primeiro em fortes gotas, logo em quantidades cegadoras. Só se via uns poucos passos e isso quando se podia abrir os olhos na atormentadora chuva. Brant estava tão molhado que já nenhuma umidade mais podia incomodá-lo; tão empapado estava que o contínuo aguaceiro produzia um prazer quase masoquista. Mas o esforço físico de lutar contra a ventania estava esgotando-o rapidamente.
Parecia que tinham decorridos séculos quando a estrada se nivelou e soube que tinha chegado à cúpula. Forçou os olhos na escuridão e pôde ver, não muito longe, uma grande forma escura, que confundiu com um edifício. Embora estivesse em ruínas, aquilo podia protegê-lo da tormenta.
A chuva começou a diminuir enquanto ele se aproximava do objeto; as nuvens se afastavam, deixando ver a última luz do céu ocidental. Isso foi suficiente para mostrar a Brant que o que estava diante dele não era um edifício e sim uma grande besta de pedra, escondida na cúpula da colina, olhando fixamente para o mar. Não tinha tempo de examiná-la com mais demora e rapidamente cravou a barraca no chão, longe do alcance do vento que ainda bramava furioso. Depois de secar-se, preparou a comida. A escuridão era completa. Durante um momento descansou naquele oásis pequeno e quente, no estado de ditoso esgotamento que segue a um duro e bem-sucedido esforço. Logo se animou, pegou uma tocha e saiu na noite.
A tormenta tinha afastado as nuvens e as estrelas brilhavam na noite. A oeste ficava uma magra lua crescente, seguindo os passos do sol. Ao norte, Brant pressentia a insone presença do mar. Abaixo, na escuridão, estava Shastar, sempre golpeada pelas ondas. Mas por mais que forçasse os olhos, não pôde ver nada.
Caminhou ao longo dos flancos da grande estátua, examinando o trabalho de alvenaria à luz de sua tocha. Era uma construção uniforme, sem interrupções de junturas ou gretas e, embora manchada e descolorida pelo tempo, não mostrava sinais de deterioramento. Era impossível adivinhar a idade daquele modo, podia ser mais velha que Shastar, ou podia ter sido construída fazia só uns séculos. Não havia forma de adivinhá-lo.
O penetrante feixe branco-azulado da tocha revoou sobre os úmidos e resplandecentes costados e descansou sobre o grande rosto calmo e os olhos vazios. Poderia descrevê-lo como um rosto humano, mas depois não havia palavras. Nem homem nem mulher, à primeira vista parecia indiferente a todas as paixões da humanidade. Logo Brant viu que as tormentas dos séculos tinham deixado seus rastros. Incontáveis gotas de chuva tinham percorrido as duras bochechas, até marcarem umas lágrimas olímpicas. Lágrimas, possivelmente, pela cidade cujo nascimento e morte pareciam agora igualmente remotos.
Brant estava tão cansado que quando despertou o sol já estava alto. Durante um momento permaneceu imóvel na meia-luz, enquanto recuperava os sentidos e recordava onde estava. Logo se levantou e saiu piscando de volta à luz do dia, protegendo os olhos do resplendor.
A Esfinge parecia menor que durante a noite, embora seguisse sendo impressionante. Brant viu pela primeira vez que era de cor, de um rico e outonal dourado, uma cor não natural em uma rocha. Por isso compreendeu que não pertencia, como tinha suspeitado, a uma cultura pré-histórica. Tinha sido construída pela ciência, a partir de alguma substância sintética inquebrável, e Brant adivinhou que a criação daquilo devia estar a meio caminho entre ele e o fabuloso original que a tinha inspirado.
Lentamente, meio assustado do que podia descobrir, deu as costas à Esfinge e olhou ao norte. A colina descia e a estrada seguia o pronunciado declive, como se estivesse impaciente para saudar o mar. E lá no final estava Shastar.
Recebia o sol e o refletia tingido de todas as cores que tinham sonhado seus arquitetos. Os edifícios espaçosos, alinhados ao longo das ruas amplas, pareciam não tocados pelo tempo. A grande linha de mármore que continha o mar estava intacta. Os parques e jardins, embora cobertos de urzes, não eram selvas ainda. A cidade seguia a curva da baía uns três quilômetros, e se estirava um quilômetro terra adentro. Segundo as normas do passado era bastante pequena, mas a Brant pareceu enorme, um labirinto inextricável de ruas e praças. Logo começou a discernir a oculta simetria de seu desenho, a distinguir as principais avenidas, e a compreender o talento com que seus construtores tinham evitado a monotonia e a discórdia.
Durante um longo momento Brant permaneceu imóvel na cúpula, só consciente do milagre que se estendia ante seus olhos. Estava só nessa paisagem, uma figura diminuta e humilde ante as conquistas de homens mais grandiosos. A sensação de história, de visão da longa costa que o homem tinha escalado tão corajosamente durante um milhão de anos ou mais, era quase entristecedora. Nesse momento pareceu a Brant que do topo olhava sobre o Tempo e não sobre o Espaço: e em seus ouvidos sussurravam os ventos da eternidade que sopraram para o passado.
Sunbeam parecia muito nervosa quando chegaram aos subúrbios da cidade. Em toda sua vida Brant não tinha visto nada parecido e não podia evitar compartilhar esse desassossego. Por menos imaginativo que alguém seja, sempre há algo sinistro em edifícios que estiveram abandonados durante séculos; e os de Shastar tinham estado vazios durante quase cinco mil anos.
A estrada corria reta como uma flecha entre dois altos pilares de metal branco; como a Esfinge, eles estavam manchados, mas intactos. Brant e Sunbeam passaram por baixo dos silenciosos guardiões e se encontraram diante de um edifício comprido e plano que deve ter servido como ponto de recepção aos visitantes.
Na distância, parecia que Shastar tinha sido abandonada tão somente no dia anterior, mas agora Brant via mil sinais de desolação e descuido. A colorida pedra dos edifícios estava manchada com a pátina dos séculos; as janelas bocejavam com olhos de sujeira; aqui e ali havia fragmentos de vidro milagrosamente preservados.
Brant atou Sunbeam fora do primeiro edifício e caminhou para a entrada, atravessando o tapete de escombros e sujeira. Não havia porta, se é que alguma vez tinha existido, e passou sob o arco alto e abobadado, entrando em uma sala que parecia estender-se ao longo de toda a estrutura. A intervalos regulares, se abriam portas para outras salas, e lá adiante uma ampla escada subia ao único piso.
Levou quase uma hora para explorar o edifício e quando terminou estava tremendamente deprimido. Sua cuidadosa busca não revelou nada. Todos os quartos, grandes e pequenos, estavam completamente vazios. Havia se sentido como uma formiga caminhando sobre os ossos de um esqueleto perfeitamente limpo.
Fora, à luz do sol, reanimou-se um pouco. Esse edifício tinha sido possivelmente só um escritório administrativo e nunca tinha contido outra coisa além de arquivos e máquinas de informação. Em outros lugares da cidade as coisas podiam ser diferentes. Ainda assim, a magnitude da busca o aterrava.
Lentamente caminhou para o passeio próximo, percorrendo as amplas avenidas, admirando as altas fachadas dos edifícios. Perto do centro da cidade encontrou um dos muitos parques. Embora coberto de mato e arbustos, ainda havia consideráveis extensões de grama, e decidiu deixar Sunbeam ali, enquanto continuava suas explorações. Não era provável que se afastasse enquanto tivesse o que comer.
O parque era tão aprazível que lhe custou deixá-lo para inundar-se outra vez na desolação da cidade. Havia plantas diferentes de todas as que conhecia. Eram as descendentes silvestres das que o povo do Shastar tinha plantado séculos atrás. De pé entre as ervas altas e as flores desconhecidas, Brant escutou pela primeira vez, transpassando a quietude da manhã, o som que sempre associaria com Shastar. Vinha do mar, e embora nunca o tivesse ouvido antes, levou a seu coração uma dolorosa sensação de reconhecimento. Onde agora não soavam outras vozes, as solitárias gaivotas gritavam ainda tristemente sobre as ondas.
Era claro que se necessitariam muitos dias para fazer um simples exame superficial da cidade, e a primeira coisa que teria que fazer era encontrar onde viver. Brant dedicou várias horas a procurar o distrito residencial, até que começou a compreender que em Shastar havia algo muito estranho. Todos os edifícios que visitava estavam, sem exceção, concebidos para o trabalho, a diversão ou fins similares. Mas nenhum tinha sido concebido para ser habitado. A solução lhe ocorreu lentamente. Quando começou a conhecer a distribuição da cidade notou que em quase todas as esquinas havia estruturas baixas, de um só piso, quase idênticas. Eram circulares ou ovais, e tinham muitas aberturas que permitiam entrar de todas as direções. Quando Brant se meteu por uma delas, encontrou-se frente a uma fila de portas metálicas, cada uma com uma fileira de abajures indicadores a seu lado. E assim soube onde havia vivido o povo de Shastar.
No princípio, a ideia de casas subterrâneas lhe produziu repulsão. Logo superou o asco, e compreendeu que todo isso era muito razoável e inevitável. Não havia necessidade de abarrotar a superfície nem de tapar a luz do sol com edifícios desenhados para os simples processos mecânicos de comer e dormir. Pondo tudo isso clandestinamente, o povo de Shastar tinha podido construir uma cidade nobre e espaçosa, mantendo-a, entretanto, tão pequena que podia ser percorrida em uma hora.
Os elevadores não funcionavam, naturalmente, mas havia escadas de emergência que baixavam para a escuridão. Alguma vez todo esse mundo subterrâneo deve ter sido de uma luminosidade cegadora, mas Brant ficou em dúvida, antes de descer os degraus. Tinha a coragem, mas nunca antes tinha estado debaixo da terra e o horrorizava a idéia de perder-se em alguma das catacumbas subterrâneas. Logo encolheu de ombros e começou a descer. depois de tudo não havia perigo se tomasse as precauções mais elementares. E mesmo que se perdesse, havia centenas de outras saídas.
Desceu ao primeiro nível e se encontrou ante um comprido e amplo corredor que se estendia até onde penetrava o raio de luz. De ambos os lados havia fileiras de portas numeradas e Brant testou quase uma dúzia antes de encontrar uma que se abrisse. Lenta, quase reverentemente, entrou no pequeno lar.
Estava limpo e ordenado, pois não havia pó ou sujeira que pudesse assentar ali. Os quartos, harmoniosamente proporcionados, careciam de móveis. Depois de um século de êxodo, não tinha ficado nada de valor. Alguns acessórios semi-permanentes se encontravam ainda em seu lugar: o distribuidor de mantimentos, com seu familiar dial seletivo, era tão notavelmente parecido ao do seu próprio lar, que sua visão quase aniquilou os séculos. O dial girava ainda, embora rigidamente, e ter aparecido uma comida na câmara de materialização quase não o surpreenderia.
Brant explorou outros lares antes de retornar à superfície. Embora não encontrasse nada de valor, sentia um crescente parentesco com a gente que tinha vivido ali. Entretanto ele ainda os considerava inferiores, pois o fato que eles habitassem uma cidade, por mais bela e esplendidamente desenhada que fosse, significava para Brant um símbolo de barbárie.
No último lar que visitou havia um quarto vividamente colorido, com um afresco de animais dançando ao redor das paredes. As pinturas eram de um humor que devia ter deleitado os corações dos meninos. Brant examinou as pinturas com interesse, pois era a primeira obra de arte representativo que encontrava em Shastar. Estava a ponto de partir quando notou uma diminuta pilha de pó em um canto do quarto e, ao inclinar-se, ficou a olhar os fragmentos ainda reconhecíveis de uma boneca. Não ficara nada sólido, salvo uns poucos botões coloridos, que se converteram em pó quando os levantou nas mãos. Perguntou-se por que essa triste relíquia teria sido abandonada pela sua proprietária; logo saiu em pontas de pé para a superfície e para as ruas solitárias, mas luminosas. Nunca mais voltou para a cidade subterrânea.
No entardecer retornou ao parque para ver se Sunbeam não tinha cometido diabruras e se dispôs a passar a noite em uma das casinhas disseminadas nos jardins. Ali, entre flores e árvores, quase podia imaginar que estava outra vez em sua casa. Dormiu melhor que nunca desde que tinha abandonado Chaldis, e pela primeira vez em muitos dias, seus últimos pensamentos não foram para Yradne. A magia de Shastar já estava trabalhando em sua mente; a infinita complexidade da civilização que tinha simulado desprezar o estava mudando mais velozmente do que imaginava. Quanto mais ficasse na cidade, mais se afastaria do moço ingênuo, embora seguro de si mesmo, que entrara nela tão somente umas horas antes.
O segundo dia confirmou as impressões do primeiro. Shastar não tinha morrido em um ano, nem sequer em uma geração. Seu povo se foi lentamente, quando se desenvolveram novas formas sociais, (quão antigas agora!), e a humanidade retornou às colinas e aos bosques. Não tinham deixado nada para trás, salvo esses monumentos de mármore a uma forma de vida desaparecida para sempre. Se tivesse ficado algo de valor, os milhares de exploradores curiosos que a tinham visitado nos cinqüenta séculos transcorridos, já o teriam levado. Brant encontrou muitos rastros de seus predecessores; seus nomes estavam esculpidos nas paredes, por toda a cidade, pois este é um tipo de imortalidade a que os homens nunca puderam resistir.
Por fim, cansado da infrutífera busca, desceu à costa e se sentou no longo quebra-mar. O mar, poucos centímetros abaixo, estava completamente sereno e era de um azul cerúleo. Estava tão limpo e tranqüilo que se viam os peixes nadando na profundidade: em um lugar viu os restos de um casco de navio, estendido de flanco, enquanto as algas marinhas ondeavam como longos cabelos verdes. Entretanto, pensou, deve haver ocasiões nas quais as ondas trovejam sobre estas paredes maciças. Pois detrás dele, o largo parapeito estava coberto por um espesso tapete de pedras e conchas, lançadas ali pelas ventanias dos séculos.
A paz da cena lhe deu uma lição inesquecível: compreendeu a futilidade da ambição que o rodeava. Desapareceu assim todo sentimento de desilusão ou fracasso. Embora Shastar não lhe tivesse dado nada de valor material Brant não se queixava da viagem. Sentado ali, no molhe, de costas para a terra, os olhos deslumbrados pelo azul cegador, sentia-se afastado dos velhos problemas e recordava sem dor, com desapaixonada curiosidade, todos os pesares e a ansiedade que o haviam angustiado nos últimos meses.
Voltou lentamente para a cidade, logo depois de caminhar um momento com o passo do mar, e retornou por uma nova rota. Logo se achou ante um grande edifício circular, cujo teto era uma baixa cúpula de algum material translúcido. Olhou o edifício com pouco interesse, pois estava emocionalmente exausto, e decidiu que provavelmente era outro teatro ou outra sala de concertos. Quase tinha passado a entrada quando algum obscuro impulso o desviou, e atravessou a soleira aberta.
Dentro dele a luz se filtrava pelo teto com tanta facilidade que Brant quase teve a impressão de estar ao ar livre. Todo o edifício estava dividido em numerosos salões, cuja finalidade compreendeu com súbita emoção. Os delatores retângulos sem cor mostravam que as paredes tinham estado uma vez cobertas de quadros; era possível que tivesse ficado algum. Brant, ainda seguro em seu sentimento de superioridade, não esperava impressionar-se muito... e por isso o golpe foi enorme.
A labareda de cor ao longo de toda a grande parede o sacudiu como uma fanfarra de trompetistas. Durante um momento ficou paralisado na soleira, incapaz de compreender o significado do que via. Logo, lentamente, começou a desenredar os detalhes do tremendo e intrincado mural que tão subitamente tinha explodido diante de seu olhar.
Tinha quase trinta metros de comprimento e era, sem comparação alguma, a coisa mais formosa que Brant tinha visto em sua vida. Shastar o tinha assustado e afligido e, entretanto, estranhamente, aquela tragédia não o tinha comovido. Mas isto lhe golpeava diretamente o coração, e falava uma linguagem que ele podia entender; então os últimos vestígios de sua condescendência para com o passado se dispersaram como folhas em uma ventania.
Os olhos se moviam naturalmente da esquerda para a direita, percorrendo a pintura, para seguir a curva de tensão até seu momento de clímax. À esquerda estava o mar, de um azul tão profundo como a água que golpeava Shastar. E uma frota de estranhas naves, conduzidas por fileiras de bancos de remos e por ondulantes velas, esforçava-se por chegar à terra distante. A pintura não só cobria quilômetros de espaço, mas também possivelmente anos de tempo. Agora as naves tinham chegado à costa, e ali, na vasta planície, acampava um exército; os muros da cidade-fortaleza que estava sitiando diminuíam as bandeiras e as lojas e os carros. Os olhos escalavam esses muros ainda inviolados e pousavam, como estava calculado, na mulher que olhava dali de cima para o exército que a tinha seguido através do oceano.
Inclinada para diante para esquadrinhar as muralhas, o vento jogava com seu cabelo, lhe envolvendo a cabeça em uma névoa dourada. Lia-se em seu rosto uma tristeza tão profunda que nenhuma palavra podia expressar, mas que, entretanto, não afetava aquela incrível beleza; uma beleza que manteve Brant enfeitiçado durante longo tempo, lhe impedindo de afastar os olhos. Quando finalmente o fez, seguiu o olhar da mulher, descendo para os muros aparentemente inexpugnáveis, até o grupo de soldados que trabalhava sob sua sombra. Os soldados estavam reunidos ao redor de algo tão reduzido pela perspectiva, que passou um tempo antes que Brant compreendesse do que se tratava; era uma imagem imensa de um cavalo, montado sobre rodas para movê-lo facilmente. Não recordou nada a Brant, que rapidamente voltou para a solitária figura do muro. Agora via que essa figura era o eixo ao redor do qual estava balançado todo o grande desenho. Pois, enquanto seus olhos percorriam a pintura, levando-o ao futuro, encontrava-se com aldeias em ruínas, a fumaça da cidade incendiada manchando o céu, e a frota voltando para seu lar, cumprida a missão.
Brant ficou ali até que quase não podia ver pela falta de luz. Desaparecido o impacto inicial, examinou a grande pintura mais atentamente, e procurou em vão a assinatura do artista. Também procurou algum encabeçamento ou título, mas estava claro que não o tinha havido nunca..., possivelmente porque a história era demasiado conhecida e não fazia falta. Nos séculos intermediários, entretanto, algum outro visitante arranhou duas linhas de poesia na parede:
É este o rosto que lançou mil navios
e acendeu as torres de Ilium?
Ilium! Era um nome estranho e mágico... mas não significava nada para ele. Perguntou-se se pertenceria à história ou à fábula, sem saber quantos antes dele tinham lutado com o mesmo problema.
Ao sair à luz crepuscular, ainda levava nos olhos essa triste e etérea beleza. Possivelmente, se Brant não fosse um artista, e não tivesse estado tão suscetível, a impressão não o teria afligido tanto. Sem embargo, essa era a sensação que o desconhecido professor tinha pretendido criar, como a Fênix, com as cinzas de uma grande lenda. Tinha capturado, e a mostrava aos séculos futuros, essa beleza cujo serviço é a finalidade da vida, e sua única justificativa.
Brant ficou um longo momento sentado sob as estrelas, olhando como a lua crescente afundava atrás das torres da cidade e acossado por perguntas cuja resposta não saberia nunca. Todos os outros quadros da galeria tinham desaparecido; estariam tão pulverizados que era inútil buscá-los, não só em todo mundo, mas também em todo o universo. Como seriam, comparados com a única obra de gênio que agora devia representar para sempre a arte de Shastar?
Brant voltou no outro dia, logo depois de uma noite de sonhos estranhos. Em sua mente se formou um plano tão desatinado e ambicioso que, no princípio, tratou de não tomá-lo muito a sério; mas não o deixava em paz. Quase a contragosto armou o pequeno cavalete e preparou as tintas. Tinha encontrado em Shastar uma coisa que era, ao mesmo, tempo única e formosa. Possivelmente tivesse o talento de levar um débil eco dessa coisa de volta para Chaldis.
Era impossível, é obvio, copiar mais que um fragmento do grande afresco, mas o problema da seleção era fácil. Embora nunca tivesse tentado um retrato de Yradne, agora pintaria uma mulher que, se realmente tivesse existido, era pó desde cinco mil anos.
Várias vezes ele se deteve considerar esse paradoxo e, no final, pensou que o havia resolvido. Nunca havia pintado Yradne porque duvidava de seu próprio talento e porque temia as críticas dela. Aqui não teria esses problemas, disse-se Brant. Não se deteve a pensar como Yradne reagiria quando voltasse para Chaldis levando como único presente o retrato de outra mulher.
A verdade era que pintava para si e para ninguém mais. Pela primeira vez em sua vida se encontrava diretamente com uma grande obra de arte clássica e estava um pouco aturdido. Até então tinha sido um aficionado; talvez nunca chegasse a ser mais que isso, mas pelo menos faria um esforço.
Trabalhou todo o dia sem descanso, e a total concentração no trabalho lhe deu certa paz espiritual. Ao anoitecer tinha esboçado os muros do palácio e as ameias e estava a ponto de começar o próprio retrato. Nessa noite dormiu bem.
Na manhã seguinte perdeu quase todo o otimismo. Restavam poucas provisões e possivelmente o pensamento de estar trabalhando contra o relógio o inquietou. Tudo parecia estar mal: as cores não coincidiam e a pintura, que se tinha mostrado tão promissora no dia anterior, tornava-se menos satisfatória cada minuto que passava.
Para piorar as coisas, faltava luz, embora fosse meio-dia e Brant supôs que fosse o céu a estar nublado. Descansou um momento, com a esperança que clareasse novamente, mas como isso não acontecia, começou novamente o trabalho. Era então ou nunca: a menos que pudesse fazer bem esse cabelo, abandonaria todo o projeto...
A tarde se desvaneceu rapidamente, mas em sua furiosa concentração, Brant nem notou o passar do tempo. Uma ou duas vezes lhe pareceu ouvir sons distante, e se perguntou se estaria se preparando uma tormenta, pois o céu estava ainda muito escuro.
Não há experiência mais arrepiante que o súbito pressentimento de já não estar sozinho. Seria difícil dizer o que impulsionou Brant a deixar lentamente o pincel e voltar-se, mais lentamente ainda, para a grande porta de entrada, a dez metros de suas costas. O homem tinha entrado quase imperceptivelmente e a Brant foi impossível adivinhar quanto tempo fazia que o observava. Um momento mais tarde a esse homem se uniram outros dois, que tampouco tentaram passar da porta de entrada.
Brant se levantou lentamente, com o cérebro feito um torvelinho. Durante um momento quase pensou que fantasmas do passado de Shastar tinham retornado para persegui-lo. Logo prevaleceu a razão.
Depois de tudo, por que não podia encontrar outros visitantes ali, se ele mesmo era um?
Deu uns passos adiante e um dos estrangeiros fez o mesmo. Quando estavam a poucos metros de distância, o outro disse em voz muito clara, falando com bastante lentidão:
― Espero não havê-lo incomodado.
Não era um começo muito dramático. Brant estava um pouco perplexo pelo sotaque do homem; quer dizer, pelo excessivo cuidado com que pronunciava as palavras. Quase parecia como se esperasse que, de outro modo Brant, não o entendesse.
— Está bem — replicou Brant, falando também lentamente. — Mas me deram uma surpresa; não esperava encontrar ninguém aqui.
— Nós tampouco — disse o outro com um ligeiro sorriso, — Não tínhamos idéia que ainda vivesse alguém em Shastar.
—Mas eu não vivo em Shastar — explicou Brant. — Sou um visitante, igual a vocês.
Os três trocaram olhares, como se compartilhassem alguma brincadeira secreta. Logo um deles tirou um objeto metálico do cinturão e disse umas poucas palavras, muito brandamente para que Brant as ouvisse. Brant pensou que, possivelmente, outros membros do grupo estavam a caminho, e lhe incomodou que lhe interrompessem tão completamente a solidão.
Dois dos estrangeiros se aproximaram do grande mural e começaram a examiná-lo criticamente. Brant se perguntou o que pensariam. Incomodava-lhe compartilhar o tesouro com quem não sentia a mesma veneração, com quem o consideraria só uma bela pintura. O terceiro homem ficou a seu lado e comparou, o mais discretamente possível, a cópia que Brant fazia do original. Os três pareciam evitar a conversa, deliberadamente. Houve um longo e embaraçoso silêncio; logo os outros dois se aproximaram.
— Bom, Erlyn, o que te parece? — disse um, gesticulando para a pintura com a mão. Parecia que, no momento, tinham perdido todo interesse no Brant.
— É um primitivo muito bom, do fim do terceiro milênio; tão bom como qualquer dos que temos. Não está de acordo, Latvar?
— Não exatamente. Não diria que é de fins do terceiro milênio. Por exemplo, o tema...
— Oh, você e suas teorias! Mas possivelmente tenha razão. É muito bom para esse último período. Pensando bem, eu situaria ao redor de 2500. O que diz, Trescon?
— Estou de acordo. Provavelmente Arcon ou algum de seus alunos.
— Tolices! — disse Latvar.
— Disparates! — soprou Erlyn.
— Oh, está bem — replicou Trescon de bom humor. — Só estudei esse período durante trinta anos, enquanto que vocês o olham agora pela primeira vez. De modo que me inclino ante sua sabedoria.
Brant tinha seguido a conversação, cada vez mais desconcertado.
— Acaso vocês três são artistas? — perguntou finalmente.
— É obvio — replicou Trescon majestosamente. — Por que outro motivo estaríamos aqui?
— Não seja um maldito mentiroso — disse Erlyn, sem sequer levantar a voz. — Não será um artista mesmo que vivas mil anos. É só um perito, e sabe disso. Os que podem, criam. Os que não podem, criticam.
— De onde vieram? — perguntou Brant, um pouco fracamente.
Nunca tinha conhecido gente como esses homens extraordinários. Eram de meia-idade, mas pareciam ter um gosto e um entusiasmo infantis. Todos seus movimentos e gestos eram empolados e, quando falavam entre eles, o faziam tão rapidamente que Brant achava difícil compreendê-los.
Antes que pudessem responder, houve outra interrupção. Na soleira apareceram uma dúzia de homens que, ao ver a grande pintura, se detiveram momentaneamente. Logo se apressaram a reunir-se com o pequeno grupo que rodeava Brant.
— Aqui o tem — disse Trescon, assinalando Brant. — Encontramos a alguém que pode responder às suas perguntas.
O homem ao qual se dirigiu Trescon olhou Brant atentamente, deu uma olhada à pintura inconclusa, e sorriu um pouco. Logo se voltou para Trescon e elevou as sobrancelhas interrogativamente.
— Não — disse Trescon sucintamente.
Brant começava a sentir-se incomodado. Não compreendia o que estava correndo e isso era desagradável.
— Importar-se-iam de me dizer do que se trata tudo isto? — disse.
Kondar o olhou com expressão insondável. Depois disse tranquilamente:
— Possivelmente poderia te explicar melhor as coisas se saísses.
Falou como se nunca tivesse que pedir uma coisa duas vezes; e Brant o seguiu sem dizer uma palavra, enquanto os outros se aglomeravam atrás dele. Na entrada, Kondar se colocou de lado e indicou a Brant que passasse.
Ainda estava estranhamente escuro, como se uma nuvem de tormenta tivesse abafado o sol. Mas a sombra que cobria completamente Shastar não era a de uma nuvem.
Uma dúzia de pares de olhos observou Brant à medida que ele olhava o céu, tratando de calcular o tamanho real da nave que flutuava sobre a cidade. Estava tão perto que se perdia o sentido de perspectiva; a gente só ficava consciente das vastas curvas metálicas que se perdiam no horizonte. Deveria ouvir-se algum som, alguma indicação da energia que mantinha a essa estupenda massa em repouso sobre Shastar; mas só havia o silêncio mais profundo que Brant jamais tinha conhecido. Até o grito das gaivotas tinha cessado, Como se também elas se sentissem intimidadas pelo intruso que usurpava seus céus.
Finalmente Brant se voltou para os homens reunidos detrás dele. Sabia que esperavam sua reação, e então compreendeu aquele comportamento curiosamente distante, embora não hostil. Para esses homens que gozavam de poderes divinos, ele não era mais que um selvagem que casualmente falava o mesmo idioma. Era um sobrevivente de seu próprio e quase esquecido passado, e lhes recordava a época em que seus antepassados haviam compartilhado a Terra com os dele.
— Agora compreende quem somos? — perguntou Kondar.
Brant assentiu.
— Estiveram fora longo tempo — disse. — Quase os tínhamos esquecido.
Brant voltou a olhar para o grande arco metálico que cobria o céu e pensou que era muito estranho que o primeiro contato, logo depois de tantos séculos, fosse ali, nessa perdida cidade dos homens. Mas parecia que Shastar era muito bem recordada entre as estrelas, pois certamente Trescon e seus amigos pareciam conhecê-la muito bem.
E então, longe, para o norte, os olhos do Brant foram atraídos por um súbito reflexo. Atravessando a franja de céu que havia sob a nave passou outro gigante metálico que poderia ter sido seu gêmeo, embora reduzido pela distância. Cruzou velozmente o horizonte e, em poucos segundos, desapareceu da vista.
De modo que esta não era a única nave. Quantas mais haveria? De alguma forma este pensamento o recordou a grande pintura, e a frota invasora movendo-se com tão letal propósito para a cidade condenada. E quando esse pensamento chegou à sua alma, arrastando-se desde as profundidades da memória racial, o medo a esses estranhos que, em uma época, tinham sido a maldição de toda a humanidade. Brant se voltou para Kondar e gritou em forma acusadora:
— Vocês estão invadindo a Terra!
Durante um momento ninguém falou. Logo Trescon disse, com um pouco de malícia na voz:
— Prossiga, comandante; terá que explicá-lo cedo ou tarde. Esta é uma boa ocasião para praticar.
O comandante Kondar exibiu uma preocupada risada que primeiro tranqüilizou Brant e depois o encheu de horríveis pressentimentos.
— Faz-nos uma grande injustiça, jovem — disse gravemente. — Não estamos invadindo a Terra. Estamos evacuando-a.
— Espero — disse Trescon, que tinha tomado um interesse protetor em Brant — que esta vez os cientistas tenham aprendido uma lição, embora o duvide. Dizem simplesmente “ocorrerão acidentes”, e logo depois de arrumar uma confusão provocam outro. O Campo Sigma é até o momento seu fracasso mais espetacular, mas o progresso nunca se detém.
— E o que acontecerá se se chocar com a Terra?
— O mesmo que ocorreu com o aparelho de controle ao liberar o Campo: se disseminará uniformemente através do cosmos. E o mesmo ocorrerá com vocês, a menos que os tiremos a tempo.
— Por que? — perguntou Brant.
— Não espera uma resposta técnica, não é certo? É algo que tem que ver com a Indeterminação. Os antigos gregos, ou possivelmente foram os egípcios, descobriram que não se pode definir a posição de um átomo com precisão absoluta. O átomo tem uma pequena, mas finita probabilidade de estar em qualquer parte do universo. O povo que criou o Campo esperava usá-lo para propulsão. Mudaria as probabilidades atômicas, tal como se apresentavam então, de modo que uma espaçonave em órbita ao redor de Vega decidiria subitamente que, na realidade, devia estar girando ao redor de Betelgeuse. Bom, parece que o Campo Sigma só faz a metade do trabalho. Simplesmente multiplica as probabilidades: não as organiza. E agora se move ao azar entre as estrelas, alimentando-se de pó interestelar e de ocasionais raios de sol. Ninguém conseguiu inventar uma forma de neutralizá-lo, embora exista uma horrível sugestão de criar um gêmeo e preparar uma colisão. Se tentarem isso, sei exatamente o que acontecerá.
— Não vejo por que deveríamos nos preocupar — disse Brant. — Ainda está a dez anos luz de distância.
— Dez anos luz é muito perto para algo como o Campo Sigma. Está descrevendo ziguezagues ao azar, no que os matemáticos chamam o “Passo do Bêbado”. Se tivermos má sorte estará aqui amanhã. Mas as probabilidades para que a Terra não seja tocada são de vinte a um. Em poucos anos poderão voltar para o seu lar, como se nada tivesse acontecido.
Como se nada tivesse acontecido! Seja lá o que proporcionasse o futuro, a velha forma de vida teria desaparecido para sempre. O que ocorria em Shastar devia estar se passando, de uma forma ou outra, em todo mundo. Brant olhou assombrado para as estranhas máquinas que rodavam sobre as esplêndidas ruas, limpando os escombros de séculos e preparando a cidade para ser habitada novamente. Como uma estrela quase extinta pode acender-se de repente em uma última hora de glória, assim, durante uns poucos meses, Shastar seria uma das capitais do mundo, alojando o exército de cientistas, técnicos e administradores que tinham descido do espaço.
Brant começava a conhecer muito bem aos invasores. O vigor desses homens, sua prodigalidade, e o deleite quase infantil com que tomavam seus poderes super-humanos, não deixavam nunca de surpreendê-lo. Estes seus primos eram os herdeiros de todo o universo; e ainda não tinham esgotado suas maravilhas nem se cansaram de seu mistério. Apesar de toda sua sabedoria, em muitas das coisas que faziam havia ainda sentimento de experimentação, de alegre irresponsabilidade. O Campo Sigma era um exemplo. Haviam cometido um engano, não parecia lhes preocupar absolutamente, e estavam completamente seguros que, tarde ou cedo, arrumariam as coisas.
Apesar do tumulto que desatou sobre Shastar e certamente sobre todo o planeta, Brant havia continuado teimosamente com sua tarefa. Dava-lhe algo fixo e estável em um mundo de valores cambiantes e como tal se aferrava a ela desesperadamente. De vez em quando Trescon ou seus colegas o visitavam e aconselhavam; em geral, esses conselhos eram excelentes, embora não os seguisse sempre. E, ocasionalmente, quando estava fatigado e desejava descansar os olhos ou a mente, deixava as amplas galerias e saía às transformadas ruas da cidade. Os novos habitantes tinham uma característica: embora não fossem estar ali mais que uns poucos meses, não tinham economizado esforços para fazer de Shastar uma cidade limpa e eficiente e para lhe dar uma certa beleza que teria surpreendido a seus construtores.
Depois de quatro dias, o tempo mais longo que jamais havia dedicado a um só trabalho, Brant se deteve. Podia seguir retocando indefinidamente, mas se o fizesse só pioraria as coisas. Não de todo descontente com seu trabalho, saiu em busca do Trescon.
Como sempre encontrou o crítico discutindo com seus colegas sobre o que se deveria salvar da arte acumulada pela humanidade. Latvar e Erlyn tinham ameaçado com a violência se subisse a bordo um só Picasso a mais, ou se chegasse outro Fra Angélico. Brant, que não tinha ouvido falar de nenhum dos dois, não teve escrúpulos em fazer seu próprio pedido.
Trescon permaneceu em silêncio ante o quadro, mirando de vez em quando o original. Sua primeira observação foi completamente inesperada.
— Quem é a jovem? — disse.
— Você me disse que se chamava Helena — começou Brant.
— Quero dizer, a que pintaste realmente.
Brant olhou sua pintura, e depois o original. Era curioso que não tivesse notado antes essas diferenças, mas indubitavelmente havia traços de Yradne na mulher que aparecia nos muros da fortaleza. Não era essa a cópia exata que tinha tentado fazer. Seu coração e sua mente tinham falado pelos seus dedos.
— Entendi o que quer dizer — respondeu lentamente. — Há uma jovem em minha aldeia; na realidade vim aqui para encontrar um presente para ela, algo que a impressionasse.
— Então estiveste perdendo o tempo — respondeu Trescon rudemente. — Se te quiser, dir-lhe-á isso e pronto. Se não, não a conseguirá. É simples assim.
Brant não considerava tão simples, mas decidiu não discutir.
— Não me disse o que pensa — se queixou.
— Promete — respondeu Trescon prudentemente. — Em outros trinta anos..., bom, vinte, pode chegar a algo, se continuar. É obvio que a pincelada é muito tosca, e que essas mãos parecem um cacho de bananas. Mas tem um desenho vigoroso e me parece muito bom que não tenha feito uma cópia exata. Qualquer parvo pode fazê-lo; isto mostra que tem alguma originalidade. O que precisa é mais prática e, sobretudo, mais experiência. Bom, acredito que isso nós podemos oferecer.
— Se significa ir para longe da Terra — disse Brant — não é a experiência que quero.
— Te fará bem. Não te emociona a idéia de viajar pelas estrelas?
— Não; só me assusta. Mas não posso considerá-lo seriamente, pois não acredito que possam nos obrigar a ir.
Trescon sorriu, meio ironicamente.
— Se moverão rapidamente quando o Campo Sigma aspirar a luz das estrelas do céu. E possivelmente seja uma boa coisa quando acontecer: Tenho o pressentimento de que chegamos bem a tempo. Embora muitas vezes nos briguemos com os cientistas, eles nos liberaram para sempre do estancamento que estava apoderando-se de sua raça. Deve sair da Terra, Brant; nenhum homem que tenha vivido toda sua vida sobre a superfície de um planeta viu as estrelas, só viu seu débeis fantasmas. Pode imaginar o que significa flutuar no espaço em meio de um dos grandes sistemas múltiplos, com sóis de cores que ondulam ao redor? Eu o tenho feito; e vi estrelas flutuando em anéis de fogo carmesim, como seu planeta Saturno, mas mil vezes maiores. E pode imaginar a noite em um mundo perto do coração da Galáxia, onde todo o céu brilha por causa da névoa estelar que ainda não deu nascimento a sóis? Sua Via Láctea é só um punhado de sóis de terceira categoria; espera para ver a Nebulosa Central! Estas são as maravilhas, mas as pequenas coisas são belas também. Toma até a última gota do que o universo pode oferecer; e se assim o desejar, volta para a Terra com suas lembranças. Então pode começar a trabalhar; então, e não antes, saberá se é um artista.
Brant estava impressionado, mas não convencido.
— Segundo esse argumento — disse — a arte não poderia ter existido antes das viagens espaciais.
— Há toda uma escola crítica apoiada nessa tese; por certo que as viagens espaciais foram uma das melhores coisas que aconteceram à arte. Viajar, explorar, conhecer outras culturas: esses são os grandes estímulos para toda atividade intelectual. — Trescon assinalou o mural. — O povo que criou esta lenda era marinho e o tráfego de meio mundo passava através de seus portos. Mas logo depois de uns poucos milhares de anos, o mar foi muito pequeno para a inspiração ou a aventura, e chegou a hora de sair ao espaço. Bom, o momento chegou para ti também, goste ou não.
— Eu não gosto. Quero viver com Yradne.
— As coisas que as pessoas querem e as coisas que lhes convêm, são muito diferentes. Desejo-te sorte com sua pintura; não sei se te desejo sorte em teu outro empenho. A grande arte e a felicidade doméstica são mutuamente incompatíveis. Cedo ou tarde terá que escolher.
“Cedo ou tarde terá que escolher.” Essas palavras ressoavam ainda na mente de Brant enquanto caminhava trabalhosamente para o topo da colina, contra o vento que descia pela grande estrada. Sunbeam estava zangada porque as férias tinham terminado e se movia ainda mais lentamente do que exigia a costa. Mas, pouco a pouco, a paisagem se abriu a seu redor, o horizonte se aproximou do mar, e a cidade começou a parecer mais e mais um brinquedo construído com tijolos coloridos. Um brinquedo dominado pela nave que se pendurava lá em cima sem esforço nem movimento.
Brant a viu em sua totalidade pela primeira vez, pois agora flutuava quase ao mesmo nível de seus olhos e podia abrangê-la de um único olhar. A forma da nave era quase cilíndrica, mas terminava em complexas estruturas poliédricas, cujas funções estavam além de toda conjectura. A grande parte curva posterior estava arrepiada de saliências, estrias, e cúpulas igualmente misteriosas. Ali havia potência e praticidade, mas nada de beleza, e Brant a olhou com desgosto.
Esse triste monstro que usurpava o céu... Se tão somente desaparecesse, como as nuvens que flutuavam a seu lado! Mas não se desvaneceria porque ele o quisesse. Brant sabia que ele e seus problemas não tinham importância ante as forças que agora estavam em jogo. Esta era a pausa em que a história continha o fôlego, o silencioso instante entre o relâmpago e a chegada do primeiro golpe. Logo soaria o trovão, dando a volta ao mundo; e logo poderia desaparecer o mundo, enquanto ele e seu povo seriam exilados sem lar entre as estrelas. Esse era o futuro que não queria enfrentar; o futuro que temia mais profundamente do que Trescon e seus companheiros, para quem o universo tinha sido um brinquedo durante cinco mil anos, podiam compreender.
Parecia injusto que tivesse que acontecer em sua época, logo depois de todos esses séculos de paz. Mas os homens não podem negociar com o Destino, e escolher paz ou aventura segundo seu desejo. Outra vez tinham chegado ao mundo a Aventura e a Mudança, e ele deveria tirar disso o melhor proveito, como o tinham feito seus antepassados no começo da era espacial, quando as primeiras e frágeis naves tinham assaltado as estrelas.
Saudou Shastar por última vez. Logo deu as costas ao mar. O sol resplandecia ante seus olhos, e a estrada parecia velada por um brilhante e trêmulo resplendor, e tremia como uma miragem ou como o reflexo da lua sobre águas estremecidas. Durante um momento Brant se perguntou se seus olhos o tinham estado enganando; logo viu que não era ilusão.
Até onde podia ver, a estrada e o chão de ambos os lados estavam cobertos de incontáveis aranhas, tão frágeis e magras que só o brilho do sol revelava sua presença. Brant havia caminhado entre elas no último quilômetro, com tanta facilidade como se fossem espirais de fumaça.
Durante a manhã, as aranhas levadas pelo vento deveriam ter caído aos milhões do céu. E quando olhou para o azul, Brant pôde ver fugazes resplendores de luz solar sobre sedas flutuantes: viajantes tardios que passavam voando. Sem saber aonde ir, essas diminutas criaturas se aventuraram para um abismo mais hostil e insondável que nenhum dos que enfrentaria Brant quando chegasse o momento de despedir-se da Terra. Era uma lição que recordaria durante as semanas e os meses seguintes.
A esfinge afundou devagar no horizonte, unindo-se com Shastar, além da meia-lua das colinas. Brant se voltou uma só vez para olhar o monstro escondido, cuja vigília de séculos já chegava a seu fim. Depois caminhou lentamente para o sol, enquanto uns dedos impalpáveis lhe roçavam a cara uma e outra vez: os fios de seda arrastados pelo vento que soprava do lar.
Arthur C. Clarke
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















