HISTORIAS DE FANTASMAS / Charles Dickens
HISTORIAS DE FANTASMAS / Charles Dickens
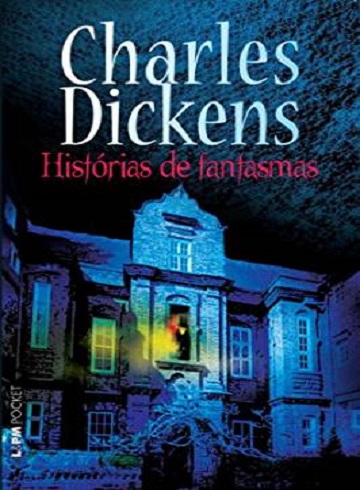
A HISTÓRIA DO CAIXEIRO-VIAJANTE
um fim de tarde, perto das cinco horas, assim que começou a escurecer, um homem num cabriolé poderia ter sido visto, instigando seu cavalo cansado, na estrada que passa para o outro lado de Malborough Downs, na direção de Bristol. Digo que ele poderia ter sido visto, e não tenho dúvidas de que teria sido visto se, por acaso, alguém que não fosse cego estivesse passando por aquele caminho. Mas o tempo estava tão ruim, e a noite tão gelada e úmida, que não havia nada nem ninguém lá fora, só a água; e assim o viajante chacoalhava no meio da estrada deserta e bastante lúgubre. Se algum caixeiro-viajante, naquele dia, pudesse ter avistado a pequena e frágil espécie de cabriolé cor de barro, com rodas vermelhas e uma veloz égua baia rabugenta e geniosa, que parecia uma cruza de cavalo de açougueiro com pônei barato do correio, ele teria reconhecido na hora que esse viajante só podia ser Tom Smart, da grande firma de Bilson & Slum, rua Cateaton, no centro financeiro de Londres. Contudo, como não havia caixeiro-viajante para ver aquilo, ninguém ficou sabendo; então, Tom Smart no seu cabriolé cor de barro e rodas vermelhas e a égua rabugenta de trote rápido seguiam juntos, mantendo o segredo entre eles. E ninguém ficou sabendo nada daquilo. “Há muitos lugares, mesmo neste mundo sombrio, mais prazerosos do que Malborough Downs quando venta forte; e se você juntar um anoitecer melancólico de inverno, uma estrada lamacenta e molhada, tudo debaixo de fortes pancadas de chuva, e experimentar o efeito disso na própria pele, você terá ideia de toda a força dessa observação. “O vento não soprava na estrada nem contra nem a favor, apesar de isso já ser incômodo suficiente, mas cruzava a estrada, forçando a chuva a inclinar-se como as linhas que se usavam nos cadernos de caligrafia na escola para forçar os meninos a ter uma boa escrita. Por um instante, o vento acalmava e o viajante começava a se iludir e a acreditar que, exausto de sua fúria anterior, o vento tivesse parado para descansar, e então: vuuuu! o viajante escutava o vento uivando e assoviando ao longe, passando pelo topo das montanhas, varrendo as planícies, concentrando o ruído e a força à medida que se aproximava, até que, com uma rajada forte, se chocasse contra o cavalo e o homem, lançando a chuva penetrante em seus ouvidos com um sopro úmido e gelado que chegava até os seus ossos. Ao passar por eles, o vento corria para longe, bem longe, com um estrondoso rugido, como se zombasse das suas fraquezas e se vangloriasse de sua força e poder. “A égua baia patinava no lodo e na água com as orelhas murchas. De vez em quando, mexia a cabeça de um lado para outro como se quisesse expressar seu desgosto por esse rude comportamento da natureza, mas mantinha um bom trote apesar de tudo, até que uma rajada de vento mais furiosa do que as outras que investiam contra eles a fez parar de uma forma inesperada e fincar as quatro patas bem firmes no chão, para evitar de ser carregada pelos ares. Foi muita sorte ela ter feito isso, pois, se tivesse sido carregada pelos ares, ela era tão leve, o cabriolé tão leve e Tom Smart também tão leve que, com toda a certeza, todos eles teriam sido levados de roldão até que alcançassem os confins da terra ou até que o vento cessasse. De qualquer modo, muito provavelmente nem a égua rabugenta, nem o cabriolé cor de barro com rodas vermelhas e nem Tom Smart nunca mais estariam aptos a trabalhar de novo. “– Bosta! Que se danem os meus suspensórios e as minhas costeletas – diz Tom Smart (Tom algumas vezes tinha uma desagradável tendência a praguejar). – Que se danem os meus suspensórios e as minhas costeletas – diz Tom. – Se ainda não tá bom que chegue, vento, pode me derrubar! “É provável que você me pergunte por que Tom Smart expressou esse desejo de ser submetido ao mesmo processo outra vez, se ele já tinha sentido a força do vento antes. Não sei. Tudo que sei é o que Tom Smart disse, ou pelo menos era o que ele contava para meu tio que havia dito, o que vem a ser exatamente a mesma coisa. “– Pode soprar forte – diz Tom Smart; e a égua relinchava como se tivesse precisamente a mesma opinião. “– Ânimo, minha velha – disse Tom, dando batidinhas no pescoço da baia com a extremidade do chicote. – Não adianta continuar, com uma noite assim. Na primeira casa que aparecer, nós paramos; então, quanto mais rápido você for, mais cedo isso se acaba. Vamos lá, minha velha... calminha... calminha. “Se a égua rabugenta estava familiarizada o suficiente com as nuanças de voz de Tom Smart para compreender seus significados, ou se ela achou que sentiria mais frio ficando parada do que indo em frente, isso eu não sei dizer. Mas sei dizer que, tão logo Tom terminou de falar, ela pôs as orelhas em pé e seguiu em frente, tão rápido que fez o cabriolé cor de barro chacoalhar e até se podia imaginar que cada um dos raios vermelhos das rodas sairia voando pela relva de Malborough Downs; e até mesmo Tom, bom condutor como ele era, não pôde parar nem diminuir o galope da égua; até que ela parou do lado direito da estrada, por vontade própria, na frente de uma estalagem de beira de estrada, cerca de um quarto de milha depois da divisa de Downs. “Tom deu uma olhadela na parte superior da casa, enquanto jogava as rédeas para o cavalariço e enfiava o chicote na boleia. Era um lugar antigo e estranho: as paredes revestidas com aquelas tabuinhas de madeira, shingles, pareciam trazer embutidas em si as vigas aparentes da construção; cada janela tinha o seu próprio telhadinho de duas águas e todas se projetavam sobre o passeio; e uma porta muito baixa com um alpendre muito escuro e um par de degraus íngremes que desciam para dentro da casa, em vez do estilo moderno com meia dúzia de degraus que subissem para dentro da casa. Contudo, era um lugar de aspecto confortável, pois uma luz forte e convidativa na janela do bar espalhava um raio de luz brilhante que atravessava a estrada e até mesmo iluminava as sebes do outro lado; e havia uma luz cintilando, avermelhada, na janela do outro lado da casa, por um momento mal e mal discernível, e já no outro instante reluzindo muito forte através das cortinas fechadas, indicativo de um fogo intenso na lareira acesa lá dentro. Observando esses pequenos detalhes com olhos de viajante experiente, Tom apeou com toda a agilidade que lhe permitiram as pernas semicongeladas e entrou na casa. “Em menos de cinco minutos, Tom estava refestelado na sala em frente ao bar – a mesma sala onde ele havia imaginado a lareira brilhando – na frente de um prosaico e substancial fogo, feito com uma montanha de carvão, mais lenha suficiente para montar meia dúzia de groselheiras de bom porte: achas empilhadas até a metade da altura da lareira, estalando e crepitando com um som que, por si só, teria aquecido o coração de qualquer homem sensato. Aquilo era agradável, mas não era tudo, pois uma moça vestida com elegância, de olhos brilhantes e tornozelos perfeitos, estava colocando uma toalha branca e muito limpa na mesa; enquanto Tom sentava, posicionando-se de costas para a porta aberta e apoiando os pés (já de pantufas) no guarda-fogo, pôde apreciar uma encantadora perspectiva do bar refletida no espelho acima da lareira: viu bonitas fileiras de garrafas verdes e rótulos dourados junto a vidros de picles e de geleias, e ainda queijos e presuntos cozidos e cortes de carne bovina, tudo arrumado em prateleiras no mais tentador e delicioso arranjo. Bom, isso também era agradável; mas, igual, não era tudo, pois no bar, jantando na mesinha mais simpática de todas, que fora puxada para perto do melhor fogo de todos, estava uma viúva rechonchuda aparentando 48 anos ou por aí, com um rosto tão agradável quanto o bar e que evidentemente era a proprietária da casa e com certeza ditava todas as regras naquela encantadora propriedade. Havia apenas um senão na beleza de todo esse cenário: um homem alto – muito alto – de casaco marrom (com botões brilhantes de cabelo humano trançado e cobre), suíças pretas, cabelo preto e ondulado, sentado à mesa da viúva, jantando com ela; e não era preciso muita perspicácia para descobrir que ele estava, de modo muito justo, encarregando-se de persuadi-la a não permanecer viúva por mais tempo e conferir a ele o privilégio de tomar assento naquele bar para e durante o resto do tempo de sua vida natural. “Tom Smart não tinha, de modo algum, um temperamento irritadiço ou invejoso, mas, fosse como fosse, o homem alto de casaco marrom com botões brilhantes de cabelo trançado despertava nele o pouco de rancor que havia no seu íntimo e fazia com que ele se sentisse indignado, especialmente porque podia observar, em alguns momentos, do seu lugar diante do espelho, umas certas intimidades afetuosas entre o homem alto e a viúva, indicando com clareza que a viúva o tinha em alta conta. Tom gostava de ponche quente – posso me arriscar a dizer que ele gostava muito de ponche quente – e depois de certificar-se que a égua rabugenta estava bem-alimentada e bem-abrigada, e depois de ter comido até o último pedacinho o saboroso prato quente que a viúva arranjara para ele com as próprias mãos, ele pediu um copo de ponche, só para experimentar. Agora, se havia uma coisa entre todas as muitas variedades de prendas domésticas que a viúva sabia fazer melhor do que as outras, isso era o ponche; e o primeiro copo estava bem ao gosto de Tom Smart: tão bemfeito que ele pediu uma segunda dose logo em seguida. Ponche quente é uma coisa prazerosa, cavalheiros – uma coisa prazerosa ao extremo sob quaisquer circunstâncias – mas, naquela sala antiga e acolhedora, diante de um fogo crepitante, com o vento soprando lá fora fazendo ranger vezes sem fim cada tábua da velha casa, Tom Smart achava o ponche quente simplesmente perfeito. Ele pediu outro copo e depois outro – não estou bem certo se não pediu mais um depois – mas, quanto mais bebia o ponche, mais ele pensava no homem alto. “‘Raios que o partam, seu descarado!’ pensou Tom consigo mesmo. ‘O que ele veio fazer aqui neste bar aconchegante? E ainda por cima é um raio de feio, esse canalha!’ pensou Tom. ‘Se a viúva tivesse bom gosto, é certo que podia escolher um sujeito melhorzinho do que esse. ’ Aqui, os olhos de Tom foram do espelho acima da lareira para o copo em cima da mesa; e, como ele percebesse que estava ficando sentimental, esvaziou o quarto copo de ponche e pediu o quinto. “Tom Smart, cavalheiros, tinha sido sempre muito ligado ao atendimento ao público. Sua ambição, por muito tempo, tinha sido trabalhar num bar de sua propriedade, vestindo um casaco verde, calças que vão até logo abaixo dos joelhos e botas de cano alto. Ele tinha ideias grandiosas de presidir jantares festivos e com frequência pensava em como poderia administrar um espaço de sua propriedade no departamento de conversas, e que exemplo importante ele poderia dar aos clientes no departamento de bebidas. Todas essas coisas passavam-se com rapidez pela mente de Tom enquanto ele bebia o ponche quente perto do fogo crepitante, e ele se sentiu, com muita justiça e com muita propriedade, indignado porque o homem alto estava na bela posição de tocar um estabelecimento de tal excelência, enquanto ele, Tom Smart, estava tão longe disso como sempre estivera. Então, depois de refletir (enquanto tomava seus dois últimos copos de ponche) se não tinha todo o direito de puxar uma briga com o homem alto por ele ter tramado para cair nas boas graças da viúva rechonchuda, Tom Smart por fim chegou a uma conclusão satisfatória: ele era um sujeito maltratado e perseguido pela sorte, e era melhor ir para a cama. “Enquanto subiam uma larga e antiquíssima escadaria, a moça vistosa ia à frente de Tom, cobrindo a chama da vela do castiçal com a mão para protegê-la das correntes de ar que, num lugar tão antigo e tão cheio de irregularidades como aquele, podiam ter encontrado espaço de sobra para se divertir sem apagar a vela, mas que, assim mesmo, apagaram a chama, permitindo aos inimigos de Tom uma oportunidade de afirmar que era ele, e não o vento, que apagara a vela e que, enquanto ele fingia soprar para acendê-la de novo, estava de fato beijando a moça. Seja como for, conseguiram uma luz nova, e Tom foi levado por um labirinto de quartos e por um labirinto de corredores até os aposentos que haviam sido preparados para ele, onde a moça desejou-lhe uma boa noite e deixou-o sozinho. “Era um quarto bom e espaçoso, com grandes armários e uma cama que teria servido para um internato inteiro, isso para não falar dos dois armários de carvalho, só de prateleiras, que teriam acomodado a bagagem de um pequeno exército; mas o que mais instigou a imaginação de Tom foi uma cadeira esquisita, de encosto alto, de aparência sinistra, entalhada de maneira absolutamente fantástica, estofada com um adamascado de estampa floral – os pés arredondados estavam cobertos com todo o capricho com um pano vermelho, bem amarrado, como se a cadeira sofresse de gota. No caso de qualquer outra cadeira esquisita, Tom apenas teria pensado que era uma cadeira esquisita, e isso teria dado por encerrado o assunto; mas havia alguma coisa naquela cadeira em particular, e no entanto ele não sabia dizer o que era; tão estranha e tão diferente de qualquer outro móvel que ele já tinha visto, parecia fasciná-lo. Ele se sentou em frente à lareira e fixou o olhar na cadeira antiga por meia hora. – Que se danasse a cadeira! aquela coisa tão velha e tão estranha que ele não conseguia desgrudar os olhos dela. “– Bem – disse Tom, enquanto ia tirando a roupa devagar e olhando fixo o tempo todo para a cadeira antiga, que ficava com o seu aspecto misterioso ao lado da cama, – nunca vi um troço tão esdrúxulo em toda a minha vida. Muito estranho – disse Tom, que tinha ficado um tanto quanto sábio depois do ponche quente. – Muito estranho. – Tom meneou a cabeça com ar de profunda sabedoria e olhou para a cadeira mais uma vez. Mas, como não sabia o que pensar daquilo, foi para a cama, esquentou-se debaixo das cobertas e pegou no sono. “Uma meia hora depois, Tom acordou sobressaltado de um sonho confuso com homens altos e copos de ponche, e o primeiro objeto que se apresentou à sua imaginação desperta foi a cadeira esquisita. “– Não vou olhar mais – disse Tom para si mesmo, e apertou as pálpebras com força e tentou convencer-se de que ia dormir de novo. Não adiantou: dançavam diante de seus olhos nada além de cadeiras esquisitas, jogando as pernas para cima, pulando carneirinho umas com as outras e fazendo todo tipo de malabarismos. “– É melhor eu ver uma cadeira de verdade do que ficar vendo dois ou três conjuntos completos de cadeiras falsas – disse Tom, botando a cabeça para fora das cobertas. Lá estava ela, muito nítida à luz da lareira, provocativa como sempre. “Tom olhou para a cadeira e, de repente, enquanto olhava para ela, a mais extraordinária mudança parecia estar acontecendo. O entalhe do encosto aos poucos assumiu as características e a expressão de um rosto humano velho e murcho de tão enrugado; o adamascado do assento transformou-se num fraque antigo, de longas abas; os pés redondos da cadeira cresceram e se transformaram em dois pés calçados em chinelas vermelhas; e a velha cadeira agora parecia um velho muito feio, do século anterior, com as mãos postas nos quadris. Tom sentou-se na cama e esfregou os olhos para dissipar a ilusão. Nada. A cadeira era um cavalheiro muito velho e muito feio; e, ainda mais, ele estava piscando para Tom Smart. “Tom era por natureza um sujeitinho imprudente e desleixado e, afinal de contas, tinha bebido cinco copos de ponche quente naquele negócio; então, embora no início estivesse sobressaltado, começou depois a sentir-se indignado quando viu o velhote piscando e olhando enviesado para ele, de um jeito desavergonhado. Por fim, ele resolveu que não iria tolerar aquilo; e, como o rosto enrugado continuasse piscando rápido e sem parar, Tom disse, numa voz muito irritada: “– Por que diabos você tá piscando pra mim? “– Porque eu gosto, Tom Smart – disse a cadeira; ou o velhote, seja lá como você quiser chamá-lo. No entanto, ele parou de piscar quando Tom falou e começou a sorrir como um macaco aposentado. “– Como é que você sabe o meu nome, seu cara de quebra-nozes? – perguntou Tom Smart, muito abalado, embora fingisse estar conduzindo muito bem a situação. “– Ora, ora, Tom – disse o ancião –, esse não é o modo de dirigir-se a um sólido mogno espanhol. Que droga! Mesmo que eu fosse envernizado! Você não pode me tratar com essa falta de respeito. – Quando o velho cavalheiro disse isso, ele parecia tão ameaçador que Tom começou a ficar com medo. “– Eu não tive a intenção de tratá-lo com desrespeito, senhor – disse Tom, a voz agora muito mais humilde do que quando havia começado a falar. “– Bem, bem – disse o velhinho –, talvez não. Hmm, pode ser. Tom... “– Senhor... “– Eu sei tudo sobre você, Tom; tudo. Você é muito pobre, Tom. “– É verdade, eu sou pobre – disse Tom Smart. – Mas como é que o senhor sabe disso? “– Não interessa – disse o velho cavalheiro –; você também gosta muito de ponche, Tom. “Tom Smart já ia declarar que não tinha provado nem uma única gota desde o seu último aniversário, mas, quando seu olhar encontrou o olhar do velho cavalheiro, este parecia tão bem informado que Tom corou e ficou em silêncio. “– Tom – disse o ancião –, a viúva é uma mulher distinta, uma mulher notável e muito distinta; hein, Tom? – Neste ponto da conversa, o velhote revirou os olhos, ergueu uma das pernas pequenas e gastas e pareceu tão desagradavelmente carinhoso que Tom ficou bem aborrecido com o comportamento leviano do velho; ainda mais na idade dele! “– Eu sou o guardião dela, Tom – disse o velho cavalheiro. “– É mesmo? – perguntou Tom Smart. “– Eu conheci a mãe dela, Tom – disse o velhinho –, e a avó também. Ela gostava muito de mim... fez-me este fraque, Tom.
“– Ela fez? – disse Tom Smart. “– E estes sapatos – disse o velhinho, erguendo uma das chinelas vermelhas –, mas não mencione isso, Tom. Eu não gostaria que soubessem que ela era tão apegada a mim. Isso pode causar algum constrangimento na família. – Quando o velho patife disse isso, ele parecia muito, muito insolente, tanto que Tom Smart, conforme declarou mais tarde, teve vontade de sentar em cima dele, sem pena. “– No meu tempo, fui muito apreciado pelas mulheres, Tom – disse o velho libertino e debochado –; centenas de mulheres distintas sentaram no meu colo por horas e mais horas. O que você pensa disso, hein, seu patife? – O ancião ia continuar contando outras proezas de sua juventude quando foi acometido de um violento ataque de rangidos e não pôde prosseguir. “Bem feito para você, seu caquético”, foi o que pensou Tom Smart, mas não disse nada. “– Ah! – disse o velhinho. – Eu estou muito preocupado com isso agora. Estou ficando velho, Tom, e já perdi quase todas as minhas travessas. Já passei por uma operação também: uma pecinha que puseram nas minhas costas; e achei aquilo uma grande provação, Tom. “– Eu posso imaginar, senhor – disse Tom Smart. “– Entretanto – disse o ancião –, essa não é a questão, Tom! Eu quero que você se case com a viúva. “– Eu, senhor ? – perguntou Tom. “– Você – respondeu o velho cavalheiro. “– Que Deus abençoe esses seus veneráveis cachos – disse Tom (ele ainda tinha alguns tufos dispersos de crina) –, que Deus abençoe esses seus veneráveis cachos, mas ela não ia aceitar o meu pedido de casamento. – E Tom suspirou, sem querer, assim que se lembrou do bar. “– Não? – questionou o ancião com firmeza. “– Não, não – disse Tom –, ela já tem um pretendente. Um homem alto... abominavelmente alto... de suíças pretas. “– Tom – disse o ancião –, ela nunca vai aceitar o homem alto. “– Não vai aceitar? – perguntou Tom. – Se o senhor estivesse no bar, senhor, o senhor ia contar outra história. “– Ora, ora – disse o ancião –, eu sei tudo sobre essas coisas. “– Sobre que tipo de coisa? – indagou Tom. “– Sobre beijar atrás das portas e todo esse tipo de coisas, Tom – respondeu o velho cavalheiro. E aqui ele deu um outro olhar desavergonhado, que fez Tom ficar muito irado, porque, como os senhores sabem, cavalheiros, escutar um senhor idoso, que devia ter mais bom-senso, falando sobre essas coisas é muito desagradável; nada menos que muito desagradável. “– Eu sei tudo sobre essas coisas, Tom – disse o ancião. – Eu vi isso tudo sendo feito com muita frequência no meu tempo, Tom, entre mais pessoas do que eu gostaria de mencionar a você, mas aquilo tudo não resultava em nada no fim das contas. “– O senhor deve ter visto uma coisa muito esquisita – disse Tom, com um olhar inquisitivo. “– Você pode até dizer isso, Tom – respondeu o velho, com uma piscadela diferente, mais complicada. – Eu sou o último da minha família, Tom – disse o ancião com um suspiro melancólico. “– Era grande, a sua família? – perguntou Tom Smart. “– Nós éramos doze, Tom – disse o ancião –, sujeitos de costas eretas, bonitos e elegantes que dava gosto de ver. Nada parecido com essas aberrações modernas... nós todos tínhamos braços e éramos polidos e, embora eu esteja falando o que não devo, todos nós éramos capazes de fazer bem ao seu coração, só de nos olhar. “– O que aconteceu com os outros, senhor? – perguntou Tom Smart. “O ancião levou o cotovelo ao olho e respondeu: “– Foram-se, Tom, foram-se. Nós aceitávamos trabalho pesado, Tom, e os outros não tinham o meu físico. Tiveram reumatismo nas pernas e nos braços e foram parar nas cozinhas e nos hospitais, e um deles, por longo tempo de serviço e por maus-tratos, perdeu o juízo. Ficou tão louco que precisou ser queimado. Uma coisa chocante, Tom. “– Terrível! – exclamou Tom Smart. “O velhinho fez uma pausa por alguns minutos, aparentemente lutando contra a emoção, e então disse: “– Entretanto, Tom, eu estou desviando do assunto. Esse homem alto, Tom, é um aventureiro desonesto. No momento em que ele se casasse com a viúva, ia vender todos os móveis e ia fugir. Qual seria a consequência? Ela ficaria abandonada e reduzida a ruínas, e eu, de tanto passar frio em uma loja de móveis de segunda mão, pegaria um resfriado que me levaria à morte. “– Sim, mas... “– Não me interrompa – disse o velho cavalheiro. – Sobre você, Tom, eu tenho uma opinião muito diferente. Eu bem sei que, se você ficasse responsável por um estabelecimento aberto ao público, você nunca o abandonaria enquanto houvesse alguma coisa para se beber dentro de suas quatro paredes. “– Eu lhe sou muito grato por esse elogio, senhor – disse Tom Smart. “– Por isso – retomou o ancião num tom ditatorial –, você deve se casar com ela, e ele não. “– O que vai impedir isso? – perguntou Tom Smart, ansioso por uma resposta. “– A revelação – respondeu o velho cavalheiro – de que ele já é casado. “– Como posso provar isso? – perguntou Tom, tirando metade do corpo para fora da cama. “O ancião abriu o braço e, depois de apontar para um dos guardaroupas de carvalho, levou o braço imediatamente de volta à sua velha posição. “– Ele nem lembra – disse o velhinho – que no bolso direito de uma calça, naquele armário, ele deixou uma carta que pede que ele volte para sua esposa desconsolada, que ficou com os seus seis... preste atenção Tom... seis filhinhos, todos eles ainda bem pequenos. “Assim que o ancião pronunciou com solenidade essas palavras, suas feições foram se tornando cada vez menos distintas, e sua imagem, mais esfumaçada. A visão de Tom Smart ficou embaçada. O velhinho parecia ir se misturando aos poucos com a cadeira, o fraque adamascado transformando-se no estofado, as chinelas vermelhas encolhendo-se em saquinhos de tecido vermelho. A luz foi se apagando aos poucos, e Tom Smart jogou-se de novo em seu travesseiro e caiu no sono. “A manhã despertou Tom de um sono profundo, letárgico, no qual ele havia caído quando o velhinho desaparecera. Ele se sentou na cama e por alguns minutos se esforçou em vão para relembrar os acontecimentos da noite anterior. De repente, lembrou. Olhou para a cadeira; era um móvel fantástico e sinistro, com certeza, mas só uma notável, engenhosa e viva imaginação poderia ter descoberto qualquer semelhança entre a cadeira e o velho. “– Qual é a sua idade, velhote? – perguntou Tom. Ele era mais ousado à luz do dia… como a grande maioria dos homens. “A cadeira permaneceu imóvel e não falou nada. “– Manhã miserável – disse Tom. Nada. A cadeira não ia lhe dar conversa. “– Qual dos armários você me apontou? Você pode me dizer isso – disse Tom. Nem por um milagre, cavalheiros, a cadeira diria alguma palavra. “– Em todo caso, não é nada de mais abrir um armário – disse Tom, saindo da cama com um propósito. Foi até um dos armários. A chave estava na fechadura; ele girou a chave e abriu a porta. Havia uma calça ali. Ele colocou a mão dentro do bolso e tirou dali uma carta igual àquela que o ancião tinha descrito! “– Que coisa mais esquisita, isso – disse Tom Smart, primeiro olhando para a cadeira, e então para o armário, e depois para a carta, e então para a cadeira de novo. – Muito esquisito mesmo – disse Tom. Porém, como não havia mais nada a fazer ali, e para diminuir a esquisitice daquilo tudo, ele pensou que o melhor a fazer era vestir-se e resolver o negócio do homem alto de uma vez, para acabar com o seu próprio sofrimento. “Tom examinou os quartos por onde passou enquanto descia, com os olhos escrutinadores de um senhorio, pensando não ser impossível que, em breve, aqueles quartos e tudo dentro deles viessem a ser propriedade sua. O homem alto estava no bar pequeno e confortável, de pé, mãos atrás das costas, como se estivesse em casa. Sorriu de uma maneira despreocupada para Tom. Um observador casual poderia supor que ele fez isso somente para mostrar os seus dentes brancos, porém Tom Smart pensou que a certeza do triunfo estava passando pelos pensamentos do homem alto, se é que ele pensava. Tom riu na cara do homem e chamou a proprietária: “– Bom dia, madame – cumprimentou Tom Smart, fechando a porta da saleta tão logo a viúva entrou. “– Bom dia, senhor – disse a viúva. – O que o senhor deseja para o café da manhã? “Tom estava pensando em como abordar o assunto, então não respondeu. “–Temos um presunto muito bom – continuou a viúva – e uma carne de galinha fria, recheada com toicinho. Posso mandar servir, senhor? “Essas palavras despertaram Tom de suas reflexões. Sua admiração pela viúva crescia à medida que ela ia falando. Criatura zelosa! Provedora de grande conforto! “– Quem é o cavalheiro no bar, madame? – perguntou Tom. “– O nome dele é Jinkins, senhor – respondeu a viúva, ficando um pouco corada. “– É um homem alto – disse Tom. “– É um homem finíssimo, senhor – falou a viúva –, e um perfeito cavalheiro. “– Ah! – exclamou Tom. “– O senhor deseja mais alguma coisa? – perguntou a viúva, bastante intrigada com o jeito de Tom. “– Sem dúvida – disse Tom. – Minha cara senhora, pode me fazer a gentileza de sentar-se por um momento? “A viúva pareceu muito espantada, mas sentou-se, e Tom sentou-se também, ao lado dela. Eu não sei como isso aconteceu, cavalheiros – na verdade, meu tio costumava me contar que Tom Smart disse que ele também não sabia como isso aconteceu –, mas, de um jeito ou de outro, a palma da mão de Tom caiu no dorso da mão da viúva e lá permaneceu enquanto ele falava. “– Minha cara senhora – disse Tom Smart; ele sempre soube como ser amável –, minha cara, a senhora merece um marido muito bom; aliás, excelente; merece mesmo... “– Meu Deus, senhor! – disse a viúva, e isso era o melhor que podia dizer, já que a maneira de Tom começar a conversa foi bastante incomum, para não dizer surpreendente; levando-se em consideração o fato de ele nunca ter posto os olhos nela antes da noite anterior. – Meu Deus, senhor! “– Eu menosprezo bajulações, minha cara – disse Tom Smart. – A senhora merece um marido simplesmente admirável, e quem quer que ele seja, será um homem de muita sorte. – Enquanto Tom dizia isso, seu olhar passou, sem querer, do rosto da viúva para as comodidades em volta dele. “A viúva parecia mais intrigada do que nunca, e fez um esforço para levantar-se. Tom, de uma maneira gentil, apertou a mão dela, como se fosse para detê-la, e ela permaneceu sentada. As viúvas, cavalheiros, em geral não são tímidas, como meu tio costumava dizer. “– Tenho certeza que fico muito agradecida ao senhor, por esses seus elogios – disse a rechonchuda proprietária, segurando-se para não rir –, e se algum dia eu casar novamente... “– Se – disse Tom Smart, lançando um olhar enviesado, com muita astúcia, desde o canto direito do olho esquerdo. – Se... “– Bem – disse a viúva, agora rindo de verdade. – Quando eu casar, espero ter um marido tão bom quanto esse que o senhor descreve. “– Que não seja o Jinkins – disse Tom. “– Meu Deus, senhor! – exclamou a viúva. “– Ah, não me diga – disse Tom –; eu conheço o Jinkins. “– Tenho certeza que todos que conhecem o Jinkins não sabem nada de ruim dele – disse a viúva, empertigando-se ante o ar misterioso com o qual Tom tinha falado. “– Hmm! – fez Tom Smart. “A viúva começou a pensar que era chegada a hora de chorar, então pegou seu lenço e perguntou se Tom tinha a intenção de ofendê-la; se ele achava que era coisa de cavalheiro falar do caráter de outro cavalheiro pelas costas; se tinha algo a falar, por que ele não falava diretamente para o homem, como um homem, em vez de ficar assustando daquele jeito uma pobre e frágil mulher; e assim por diante. “– Eu vou dizer isso para ele em seguida – disse Tom –, só quero que a senhora me escute primeiro. “– O que é? – perguntou a viúva, examinando com atenção o semblante de Tom. “– A senhora vai ficar surpresa – disse Tom, colocando a mão no bolso. “– Se o senhor vai me dizer que ele quer dinheiro – disse a viúva –, eu já sei disso, e não precisa se dar ao trabalho. “– Ora, que tolice, não é nada disso – disse Tom Smart –; até eu quero dinheiro. Não é isso, não. “– Ah, puxa vida, e o que pode ser, então? – exclamou a pobre viúva. “– Não fique assustada – disse Tom Smart. Ele tirou a carta do bolso bem devagar e abriu-a. – A senhora promete que não vai gritar? – perguntou Tom, em dúvida. “– Não, não vou gritar – respondeu a viúva –; deixe-me ver isso. “– A senhora não vai desmaiar ou alguma besteira assim, vai? – perguntou Tom. “– Não, não – replicou a viúva, mais que depressa. “– E não precisa sair correndo e passar uma descompostura nele – disse Tom –, porque eu posso fazer tudo isso para a senhora; é melhor a senhora não gastar suas forças com isso. “– Pois bem – disse a viúva –, deixe-me ver isso. “– Eu deixo – respondeu Tom Smart; e, com essas palavras, colocou a carta nas mãos da viúva. “Cavalheiros, eu escutei o meu tio dizer que Tom Smart contou que os lamentos da viúva, quando ela soube daquela revelação, teriam penetrado um coração de pedra. Tom, com certeza, era muito sensível, e aqueles lamentos penetraram o âmago do seu coração. A viúva se balançava para frente e para trás e torcia e retorcia as mãos. “– Ah, as maldades e as trapaças dos homens! – disse a viúva.
“– Horrível, minha cara; mas a senhora tem que se recompor – disse Tom Smart. “– Ah, eu não consigo – gritou a viúva. – Nunca mais vou encontrar um outro de quem eu goste tanto! “– Ah, vai encontrar sim, minha alma querida – disse Tom Smart, deixando cair uma chuva de lágrimas, daquelas bem grandes, pelo infortúnio da viúva. Tom Smart, no vigor de sua compaixão, tinha enlaçado a cintura da viúva; e a viúva, no auge de sua dor, tinha enlaçado sua mão com a mão dele. Ela olhou para o rosto de Tom e deu um sorriso em meio às lágrimas. Tom olhou para o rosto dela e também deu um sorriso em meio às lágrimas. “Eu nunca consegui descobrir, cavalheiros, se Tom beijou ou não a viúva naquele exato momento. Ele costumava contar para o meu tio que não, mas tenho minhas dúvidas sobre isso. Cá entre nós, cavalheiros, acho que beijou, sim. “De todo modo, meia hora depois, Tom enxotou o homem muito alto pela porta da frente e, um mês depois, casou com a viúva. E ele costumava viajar pelo país, com o cabriolé cor de barro, de rodas vermelhas, e a égua rabugenta de trote rápido, até o dia em que ele desistiu dos negócios, muitos anos depois, e foi para a França com a esposa; e então a antiga casa foi demolida.”




Biblio VT




O SINALEIRO lá, aí embaixo! Quando ouviu uma voz chamando-o, ele estava parado à porta de sua cabine, bandeira na mão enrolada em sua haste curta. Alguém teria pensado, considerando a natureza do terreno, que ele não poderia ter duvidado de que lado vinha a voz; porém, em vez de olhar para cima, para o topo do abrupto corte no morro onde eu estava, praticamente sobre sua cabeça, ele se virou e olhou para a linha do trem. Havia algo singular na maneira de ele fazer aquilo, apesar de eu não saber explicar o que era. Mas sei que era singular o bastante para atrair minha atenção, ainda que seu vulto estivesse só delineado na sombra, lá embaixo na profunda trincheira, e o meu estivesse bem acima dele, tão imerso no brilho de um pôr do sol inflamado que eu tinha protegido meus olhos da luz com a mão antes de conseguir enxergá-lo. – Olá! Aí embaixo! Depois de olhar a linha do trem, ele se virou novamente e, erguendo os olhos, enxergou meu vulto bem acima dele. – Tem algum caminho por onde eu possa descer e falar com o senhor? Ele olhou para mim sem responder e eu o olhei sem pressioná-lo logo com a repetição da minha pergunta inútil. Naquele momento, uma tênue vibração surgiu na terra e no ar, transformando-se rápido numa trepidação violenta e numa agitação próxima, que me fez recuar, como se tivesse força para me arrastar para baixo. Quando a fumaça desse rápido trem passou por mim e foi sumindo na paisagem, uma fumaça que chegara à altura da minha cabeça, olhei para baixo de novo e o vi enrolando a bandeira que havia desfraldado enquanto o trem estava passando. Repeti minha indagação. Depois de uma pausa, durante a qual ele parecia me observar com a máxima atenção, ele me guiou com sua bandeira enrolada em direção a um ponto no meu nível, a duzentos ou trezentos metros de distância. Gritei para ele: “Muito bem!” e me dirigi àquele ponto. Ali, examinando à minha volta com atenção, encontrei um caminho tosco descendo em zigue-zague, que eu segui. O corte no morro era profundo ao extremo e surpreendentemente íngreme. Fora feito numa pedra viscosa, que se tornava ainda mais pegajosa à medida que eu descia. Por essas razões, achei o caminho longo o bastante para me dar tempo de lembrar a maneira estranha, de relutância e de obrigação, com a qual ele havia me apontado a trilha. Quando havia descido o bastante no declive em zigue-zague para vêlo de novo, percebi que ele estava parado entre os trilhos, no caminho onde o trem havia recém passado, numa postura como se estivesse esperando eu aparecer. Tinha a mão esquerda no queixo e o cotovelo esquerdo apoiava-se na mão direita, esta atravessada no peito. Sua postura era de tamanha expectativa e cautela que parei um momento, examinando-a. Prossegui no meu caminho de descida, pisei no nível da estrada de ferro e, chegando mais perto dele, percebi que era um homem moreno e pálido, com uma barba escura e sobrancelhas muito pesadas.
.
.
.
.
.
.
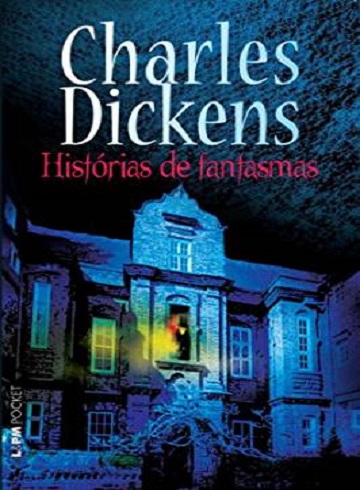
.
.
.
Seu posto era o lugar mais solitário e sombrio que eu já havia visto. Em ambos os lados, havia uma parede de umidade gotejante da rocha recortada, que eliminava toda e qualquer vista, exceto uma faixa do céu. O panorama, numa direção, era apenas um prolongamento torto desse grande calabouço; o panorama mais curto, na outra direção, terminava numa melancólica luz vermelha e na entrada ainda mais melancólica de um túnel escuro, em cuja arquitetura pesada havia um ar cruel, deprimente e ameaçador. Tão pouco sol penetrava naquele lugar que o cheiro era de terra e de morte; e tanto vento frio soprava por ali que me deixou arrepiado, como se eu tivesse deixado o mundo natural. Antes de ele se mover, eu estava perto o bastante para poder tocálo. Sempre sem desviar os olhos dos meus, ele deu um passo para trás e ergueu a mão. Esse era um posto solitário para ocupar (eu disse), e isso tinha chamado minha atenção quando olhei lá de cima. Uma visita era uma raridade, eu supunha; não uma raridade inoportuna, eu esperava. Em mim, ele via apenas um homem que tinha sido aprisionado dentro de limites estreitos por toda a vida e que, ao ser afinal libertado, tinha despertado um interesse recente por essas máquinas importantes. Com esse propósito, falei com ele; mas estou longe de ter certeza dos termos que usei, porque, além de eu não gostar de começar qualquer conversa, havia algo naquele homem que me atemorizava. Ele dirigiu o mais curioso olhar na direção da luz vermelha perto da boca do túnel e olhou tudo ao redor, como se alguma coisa estivesse faltando, e só então olhou para mim. A luz era parte de sua função? Ou não era? Ele respondeu numa voz baixa: – O senhor não sabe que é? Um pensamento monstruoso veio à minha mente enquanto eu examinava o olhar fixo e o rosto saturnino, de que ele era um espírito, não um homem. Eu tenho especulado, desde então, se poderia ter havido um distúrbio infeccioso na sua mente. Por minha vez, recuei. Porém, fazendo isso, detectei nos seus olhos um certo medo latente de mim. Isso afugentou meu pensamento monstruoso. – Você me olha – eu disse, forçando um sorriso – como se tivesse receio de mim. – Eu estava em dúvida – replicou ele – se já o tinha visto antes. – Onde? Ele apontou para a luz vermelha que olhara antes. – Ali? – perguntei. Cauteloso ao extremo, ele respondeu (mas sem som):
– Sim. – Meu bom homem, o que eu faria ali? De qualquer modo, seja como for, eu nunca estive ali, pode acreditar. – Acho que posso – ele retorquiu. – Sim, tenho certeza que posso acreditar. Sua aparência se iluminou, assim como a minha. Ele respondeu aos meus comentários com disposição e palavras bem escolhidas. Se ele tinha muito o que fazer ali? Sim, quer dizer, ele tinha bastante responsabilidade nos ombros; mas precisão e vigilância era o que exigiam dele; e de trabalho efetivo – tarefas braçais – ele tinha quase nada. Mudar aquele sinal, arrumar as luzes e girar sua manivela de ferro de vez em quando era tudo que ele tinha de fazer. Quanto àquelas muitas, longas e solitárias horas que eu parecia considerar importantes, ele podia apenas dizer que a rotina da sua vida tinha se moldado daquela forma e que ele se acostumara com aquilo. Aqui embaixo ele havia ensinado a si mesmo uma linguagem – isso se podia se chamar de aprendizado conhecer de vista as palavras e formar as próprias ideias cruas de suas pronúncias. Ele também havia trabalhado com frações e decimais e experimentado um pouco de álgebra, mas ele era, e tinha sido quando menino, fraco em algarismos. Perguntei se era necessário para ele, enquanto trabalhava, ficar sempre naquele canal de ar úmido sem nunca poder subir até a luz do sol, saindo do meio daquelas altas paredes de pedra? Ora, isso dependia do relógio e das circunstâncias. Sob algumas condições, aconteciam menos coisas na linha do trem do que sob outras, e o mesmo se podia dizer de certas horas do dia e da noite. Num dia claro de sol, ele escolhia momentos para ir até um pouco acima dessas sombras mais baixas; mas, estando sempre sujeito a ser chamado a qualquer hora por sua campainha, acontecia que, nessas horas, ficando de ouvidos atentos com redobrada ansiedade, o alívio era menor do que eu podia imaginar. Ele me levou à sua cabine, onde havia um fogareiro, uma escrivaninha para um livro de registros, no qual ele tinha de fazer certas anotações, um instrumento telegráfico com o disco, fita de papel e agulhas, e a pequena campainha da qual ele havia falado. Vendo-me confiante de que ele iria perdoar meu comentário sobre sua boa escolaridade e (eu esperava dizer isso sem ofensa) talvez um nível de instrução superior ao seu cargo, ele observou que exemplos de uma leve incongruência nesse sentido não faltavam nas grandes populações masculinas; que ele tinha escutado que isso era assim em fábricas, na polícia, até mesmo no último recurso desesperado, o exército; e que ele sabia que era assim, mais ou menos, em qualquer grupo de funcionários de uma grande estrada de ferro. Ele tinha sido, quando jovem (se é que eu podia acreditar nisso, sentado naquela cabana – ele mal podia), um estudante de filosofia natural e tinha frequentado aulas; porém, ele fizera bobagens, não aproveitara as oportunidades, decaíra; e nunca mais se levantou. Não tinha nenhuma reclamação a fazer. Havia feito sua própria cama e nela se deitado. Era tarde demais para fazer outra.
Tudo isso que eu aqui resumi ele contou de modo sereno, com suas pesadas e tristes lembranças divididas entre mim e o fogareiro. Lançava uma palavra de vez em quando: “senhor”, em especial quando se referia a sua juventude – como se estivesse me pedindo para entender que ele não alegava ser nada além daquilo que eu havia encontrado. Ele foi diversas vezes interrompido pela pequena campainha, e teve de ler mensagens e enviar respostas. Uma vez ele teve de se colocar do lado de fora da porta, exibir uma bandeira de sinalização enquanto um trem passava e fazer uma comunicação verbal ao maquinista. No desempenho de suas tarefas, eu o observei ser notavelmente preciso e vigilante, interrompendo seu discurso no meio de uma palavra e permanecendo quieto até cumprir com o que tinha de ser feito. Numa palavra, eu poderia indicar esse homem como um dos mais capacitados para aquele cargo, exceto pela circunstância de que, enquanto falava comigo, por duas vezes calou-se, pálido, virou o rosto na direção da pequena campainha quando esta não havia tocado, abriu a porta da cabana (que permanecia fechada para não deixar entrar a umidade insalubre) e olhou na direção da luz vermelha perto da boca do túnel. Em ambas as ocasiões, ele retornou para o fogareiro com um ar inexplicável, no qual eu havia reparado, mas sem conseguir definir naquele momento em que estávamos tão distantes de tudo. Eu disse, quando levantei para deixá-lo: – Você quase me faz pensar que conheci um homem satisfeito. (Devo admitir que disse isso para provocá-lo.) – Acho que eu era assim – ele retrucou, com a voz baixa que ele usara quando começou a falar –, mas eu estou transtornado, senhor, eu estou transtornado. Ele teria engolido as palavras se pudesse voltar atrás. Ele as disse, no entanto, e eu as usei rápido. – Com o quê? Qual é o problema? – É muito difícil de dizer, senhor. É muito, muito difícil de falar. Se o senhor algum dia me fizer outra visita, eu vou tentar lhe contar. – Mas é certo que pretendo lhe fazer outra visita. Diga, quando deve ser? – Eu saio de manhã cedo e devo estar de volta às dez horas, amanhã de noite, senhor. – Então eu venho às onze. Ele me agradeceu e me levou até a porta: – Vou iluminar o caminho com minha luz branca, senhor – disse ele, com sua peculiar voz baixa –, até o senhor encontrar o caminho para subir. Quando o senhor encontrar, não me chame. E, quando estiver no topo, não me chame. Seu comportamento parecia deixar o lugar ainda mais gelado para mim; porém, eu não disse nada além de: – Muito bem! – E quando você descer até aqui amanhã à noite, não me chame!
Quero lhe perguntar uma última coisa. O que o fez gritar “olá, aí embaixo” hoje? – Só Deus sabe – disse eu. – Gritei alguma coisa parecida. – Parecida não, senhor. Foram essas as exatas palavras. Eu as conheço muito bem. – Admito que foram essas as exatas palavras. Sem dúvida eu disse isso porque avistei o senhor aqui embaixo. – Por nenhuma outra razão? – Que outra razão eu poderia ter? – O senhor não teve a sensação de que elas lhe foram transmitidas de alguma maneira sobrenatural? – Não. Ele me desejou uma boa noite e levantou a luz. Caminhei ao lado da linha dos trilhos (com a sensação muito desagradável de que um trem vinha vindo atrás de mim) até encontrar o caminho. Era mais fácil escalar do que descer, e retornei para minha hospedaria sem nenhum problema. Na noite seguinte, pontual para o meu compromisso, coloquei o pé no primeiro ponto do zigue-zague no momento em que os relógios distantes estavam batendo as onze horas. Ele estava me esperando no fundo do desfiladeiro, com sua luz branca acesa. – Eu não o chamei – disse eu, quando estávamos próximos. – Posso falar agora? – Sem dúvida, senhor. – Então, boa noite, e eu lhe estendo a mão. – Boa noite, senhor, e eu lhe estendo a minha. Feito isso, caminhamos lado a lado para sua cabina, entramos, fechamos a porta e nos sentamos perto do fogareiro. – Tomei uma decisão, senhor – começou ele, inclinando-se frente tão logo nos sentamos e falando num tom pouca coisa acima de um sussurro –, que o senhor não vai precisar me perguntar duas vezes o que está me perturbando. Eu confundi o senhor com outra pessoa ontem à noite. Isso me perturba. – Ter se enganado? – Não. Essa outra pessoa. – Quem é? – Eu não sei. – Parece comigo? – Eu não sei. Nunca vi o rosto dessa pessoa. O braço esquerdo está na frente do rosto, e o braço direito está acenando, acenando vigorosamente sem parar. Assim. Segui seu movimento com o olhar. Era o movimento de um braço gesticulando com a maior aflição e veemência: “Pelo amor de Deus, saia do caminho!”. – Numa noite de luar – disse o homem –, eu estava sentado aqui quando ouvi uma voz gritar: “Olá, aí embaixo!”. Eu me levantei rápido, olhei por aquela porta e vi essa outra pessoa parada de pé ao lado da luz vermelha perto do túnel, acenando como lhe mostrei recém agora. A voz parecia rouca de tanto gritar e implorou: “Cuidado, cuidado!”. Eu peguei minha lanterna, liguei no vermelho e corri em direção ao vulto, gritando: “Qual é o problema? O que aconteceu? Onde?”. A figura estava parada do lado de fora da escuridão do túnel. Cheguei tão perto dela que me perguntei por que tapava os olhos com o braço. Corri direto até ela e estendi a mão para puxar-lhe a manga, quando ela se foi. – Para dentro do túnel? – perguntei. – Não. Pois eu corri para dentro do túnel, uns quinhentos metros. Parei e ergui a minha lanterna acima da cabeça. Vi as figuras daquela distância e vi as manchas de umidade escorrendo pelas paredes e gotejando no arco. Corri para fora de novo, mais rápido do que antes (porque senti uma repulsa mortal ao lugar), e olhei tudo à volta da luz vermelha com a minha lanterna e subi a escada de ferro até a galeria acima, e desci de volta, e corri até aqui. Telegrafei a ambos os lados: “Recebi sinal de alarme. Algo errado?”. A resposta retornou de ambos os lados: “Está tudo bem”. Resistindo ao toque lento de um dedo gelado descendo pela espinha, mostrei a ele como esse vulto era sem dúvida uma ilusão de óptica e como aqueles vultos, originando-se de uma lesão nos delicados nervos que comandam as funções dos olhos, podiam causar perturbações aos pacientes, sendo que alguns tomaram consciência da natureza de sua enfermidade e tinham até mesmo comprovado isso com experimentos consigo mesmos. Eu disse: – Apenas escute, por um instante, enquanto conversamos assim, em voz baixa, o vento nesse estranho vale fazendo vibrar os fios telegráficos, como se fosse uma harpa. É como se fosse um grito imaginário, não? Isto tudo estava muito bem, retrucou ele, depois que estivéramos escutando por algum tempo, e ele devia ter conhecimentos sobre ventos e fios – ele, que seguidamente passava longas noites de inverno ali, sozinho, observando. Mas pediu licença para dizer que não tinha terminado. Eu me desculpei, e ele, bem devagar, acrescentou estas palavras segurando o meu braço: – Seis horas depois da aparição, um acidente memorável aconteceu nesta linha e, dez horas depois, os mortos e feridos foram trazidos do interior do túnel até o exato ponto onde o vulto havia aparecido. Um arrepio desagradável tomou conta de mim, mas fiz o possível para afastá-lo. Não se podia negar, respondi, que aquilo era uma notável coincidência, calculada de maneira minuciosa para impressionar sua mente. Mas era inquestionável que coincidências notáveis ocorrem com frequência, e elas devem ser consideradas em se tratando de tal assunto. Devo admitir que ainda acrescentei (pois pensei ter notado que ele iria fazer uma objeção) que homens de bom-senso não permitiam que as coincidências interferissem nos seus planos da vida cotidiana. Ele mais uma vez me pediu licença para dizer que não tinha terminado.
Eu mais uma vez me desculpei por ter sucumbido às interrupções. – Isso – disse ele, de novo colocando a mão no meu braço e espiando por cima do ombro com seus olhos encovados – aconteceu faz um ano. Seis ou sete meses se passaram, e eu tinha me recuperado da surpresa e do choque quando, numa manhã, à medida que o dia ia clareando, eu, parado na porta, olhei na direção da luz vermelha e vi o espírito de novo. Ele parou, com o olhar fixo em mim. – Ele gritou? – Não, ficou calado. – Ele abanou? – Não. Ele se inclinou para a luz, com as duas mãos cobrindo o rosto. Assim. Mais uma vez, segui seu movimento com os olhos. Era um gesto de luto. Eu tinha visto tal pose nas figuras de pedra dos cemitérios. – Você foi até ele? – Eu entrei de volta e me sentei, em parte para organizar os pensamentos e em parte porque ele tinha me deixado tonto. Quando fui até a porta outra vez, a luz do dia estava batendo em mim, e o fantasma tinha ido embora. – Mas nada aconteceu? Não houve nenhuma consequência disso? Ele me tocou no braço com o dedo indicador duas ou três vezes, fazendo que sim com a cabeça, a expressão horripilante a cada vez. – Naquele mesmo dia, enquanto um trem saía do túnel, eu percebi, num vagão, na janela do meu lado, o que parecia ser uma confusão de mãos e cabeças e alguma coisa abanando. Vi isso a tempo de sinalizar para o maquinista “Pare!” Ele desligou a locomotiva e puxou os freios, mas o trem ainda se arrastou por uns cento e cinquenta metros ou mais. Corri para o trem e, enquanto corria, escutei gritos terríveis e muito choro. Uma moça linda teve morte instantânea em um dos compartimentos. Ela foi trazida para cá e colocada bem aqui, neste pedaço de chão entre nós. Sem querer, empurrei minha cadeira para trás, enquanto desviava o olhar das tábuas para as quais ele mesmo tinha apontado. – Verdade, senhor. Verdade. Precisamente como aconteceu, é o que estou lhe dizendo. Eu não conseguia pensar em nada para dizer, nada de pertinente, e minha boca estava seca, muito seca. O vento e os fios elétricos acolheram a história com um longo gemido de lamento. Ele recomeçou: – Agora, senhor, preste atenção e julgue a que ponto a minha mente está perturbada. O espírito voltou há uma semana. Desde então, ele tem estado ali, de vez em quando, aparece e desaparece. – Na luz? – No aviso luminoso de perigo. – O que lhe parece que ele está fazendo? Ele repetiu, como se fosse possível, com maior aflição e veemência, aquela gesticulação anterior: “Pelo amor de Deus, saia do caminho!”.
Então continuou: – Eu não tenho paz nem descanso com ele. Ele me chama, por muitos minutos sem interrupção, de maneira agoniada: “Aí embaixo! Cuidado!”. Fica me acenando. Toca a minha pequena campainha... Eu o interrompi nesse ponto: – Tocou a sua campainha ontem à noite quando eu estava aqui e você foi até a porta? – Duas vezes. – Pois veja – eu disse – como a sua imaginação o engana. Meus olhos estavam na campainha, meus ouvidos estavam atentos à campainha e, se eu sou um homem vivo, a campainha não tocou. Nem uma, nem duas vezes, exceto quando tocou no curso natural das coisas físicas, porque a estação estava se comunicando com você. Ele balançou a cabeça: – Eu nunca cometi um erro desses, senhor. Eu nunca confundi o toque da campainha do espírito com o toque da campainha humana. O toque do fantasma é uma vibração estranha na campainha, que se origina do nada, e eu não posso afirmar se o movimento da campainha é perceptível ao olhar. Eu não me surpreendo que o senhor não ouviu. Mas eu ouvi. – E o espírito parecia estar lá, quando você olhou para fora? – Ele estava lá. – Das duas vezes? Ele repetiu firme: – Das duas vezes! – Você pode vir comigo até a porta e ver se ele está lá agora? Ele mordeu o lábio inferior como se estivesse um pouco contrariado, mas se levantou. Eu abri a porta e parei nos degraus, enquanto ele ficou na porta. Lá estava o aviso luminoso de perigo. Lá estava a boca sombria do túnel. Lá estavam as altas e úmidas paredes do corte da ferrovia na montanha. Lá estavam as estrelas no céu. – Você está o vendo? – perguntei, sempre observando o seu rosto. Seus olhos estavam saltados e forçavam a vista, mas não muito mais, talvez, do que os meus, quando direcionei-os avidamente para o mesmo ponto. – Não – respondeu –, ele não está lá! – Concordo – disse eu. Nós entramos de novo, fechamos a porta e retomamos nossos assentos. Eu estava pensando em como melhorar essa vantagem, se é que podia ser chamada de vantagem, quando ele começou a conversar de um modo tão casual, tomando como certo que entre nós não havia nenhum questionamento sério quanto aos fatos, que me senti colocado na mais fraca das posições. – Agora o senhor já está entendendo perfeitamente – disse ele – que o que me perturba tanto é uma dúvida terrível: o que esse espírito significa?
Eu não tinha certeza, retruquei, de que estava entendendo perfeitamente. – O que ele quer avisar? – perguntou, remoendo, com seus olhos fixos no fogareiro e apenas de vez em quando dirigindo o olhar para mim. – O que é o perigo? Onde está o perigo? Tem um perigo ameaçando algum lugar da linha. Alguma calamidade tenebrosa vai acontecer. Não se pode duvidar desta terceira vez, não depois do que aconteceu antes. Mas com certeza eu sou o alvo dessa perseguição cruel. O que eu posso fazer? Ele puxou seu lenço do bolso e secou as gotas de suor da testa. – Se eu telegrafasse perigo, para qualquer um dos lados, ou para os dois, eu não teria uma razão para dar – continuou, enxugando as palmas das mãos. – Eu só ia me meter em apuros, e não ia adiantar nada. Iam pensar que estou louco. É assim que ia ser: Mensagem: “Perigo! Cuidado!”. Resposta: “Que Perigo? Onde?”. Mensagem: “Não sei, mas, pelo amor de Deus, cuidado!”. Iam me substituir. O que mais eles poderiam fazer? Seu sofrimento mental era lamentável de se ver. Aquilo era uma tortura para um homem consciencioso, oprimido além dos limites por uma responsabilidade incompreensível envolvendo vidas humanas. – Quando ele parou pela primeira vez embaixo do aviso luminoso de perigo – continuou, puxando o cabelo preto para trás, depois esfregando as mãos nas têmporas, num pico de ansiedade febril –, por que não me dizer onde o acidente ia acontecer, se é que podia acontecer? Por que não me dizer como podia ser evitado, se é que podia ser evitado? E, da segunda vez, ao invés de esconder o rosto, por que não me disse: “Ela vai morrer. Faça com que a deixem em casa”? Se veio, naquelas duas ocasiões, só para me mostrar que os seus avisos eram verdadeiros, e então me preparar para uma terceira vez, por que não me avisa claramente agora? E eu, Deus me ajude! Um mero sinaleiro nesta estação solitária! Por que não ir até alguém com reputação para que acreditem nele e com poder para agir? Quando o vi nesse estado, percebi que, pelo bem daquele pobre homem, assim como pela segurança pública, o que eu tinha a fazer, por ora, era acalmar sua mente. Por isso, deixando de lado qualquer questão da ordem do real ou irreal entre nós, expliquei-lhe que todo homem que se desincumbisse de forma plena daquele seu ofício teria de agir bem, e que pelo menos ele podia se consolar com o fato de que sabia qual era o seu dever, mesmo não entendendo aquelas desconcertantes aparições. Nesse empenho eu fui mais bem-sucedido do que na tentativa de persuadi-lo a esquecer sua convicção. Ele ficou calmo; as ocupações incidentais do seu cargo, à medida que a noite avançava, começaram a demandar-lhe mais atenção, e eu me despedi às duas da madrugada. Eu havia me oferecido para ficar a noite toda, mas ele disse: “Nem pensar”. Que eu, mais de uma vez, olhei para trás em direção à luz vermelha enquanto subia a trilha; que eu não gostava da luz vermelha; e que eu teria dormido mal se a minha cama estivesse embaixo dela, não vejo razão para esconder nada disso. Também não gostei da sequência de dois acidentes mais a garota morta, e não vejo razão para esconder isso também.
Mas o que mais percorria meus pensamentos era a reflexão sobre como eu deveria agir, tendo me tornado o receptor dessa revelação. Eu tinha provado ao homem que ele era inteligente, vigilante, zeloso e correto; mas por quanto tempo ele permaneceria assim em seu estado mental? Apesar de estar numa posição subordinada, ainda assim ele possuía uma obrigação importantíssima, e será que eu gostaria (por exemplo) de apostar minha própria vida na probabilidade de que ele continuaria a cumpri-la com precisão? Incapaz de dominar o sentimento de que poderia cometer uma injustiça se comunicasse para os seus superiores na companhia o que ele havia me relatado, sem deixar de agir corretamente com ele e lhe propor um meio-termo, eu, no final das contas, resolvi me oferecer para acompanhá-lo (guardando seu segredo por ora) ao mais experiente médico clínico conhecido naquele lugar e ouvir sua opinião. Uma mudança no seu horário de trabalho ocorreria na noite seguinte, ele estimara, e ele sairia uma ou duas horas depois do nascer do sol e voltaria logo depois do poente. Marquei meu retorno de acordo com esses horários. A noite seguinte estava encantadora, e eu saí cedo para aproveitá-la. O sol ainda não havia se posto quando atravessei a trilha do campo perto do topo do corte profundo da ferrovia. Eu poderia prolongar minha caminhada por mais uma hora, pensei comigo mesmo, meia hora a mais e meia hora a menos e, então, seria a hora de ir para a cabina do sinaleiro. Antes de seguir meu passeio, parei na beira do precipício e automaticamente olhei para baixo, no ponto onde o vira pela primeira vez. Não posso descrever a sensação que se apoderou de mim quando vi, perto da boca do túnel, a aparição de um homem, o braço esquerdo sobre os olhos, abanando veemente o braço direito. O horror indescritível que me afligiu passou num instante, pois num instante percebi que essa aparição era um homem de verdade, e que havia um pequeno grupo de outros homens, parados numa distância próxima, para quem ele parecia estar repetindo o gesto. O aviso luminoso de perigo ainda não estava aceso. Diante de seu poste, uma cabaninha baixa, totalmente nova pra mim, tinha sido feita de alguns suportes de madeira e lona encerada. Não parecia maior do que uma cama. Com uma irresistível sensação de que alguma coisa estava errada – com um medo perceptível e autorrepreensivo de que um erro fatal tinha acontecido por eu ter deixado o homem lá, sem ter enviado ninguém para examinar ou corrigir o que ele fez – desci a trilha pedregosa com a maior velocidade que consegui. – Qual é o problema? – perguntei ao homem. – O sinaleiro morreu esta manhã, senhor. – Não o homem daquela cabana? – Sim, senhor. – Não o homem que eu conheço? – O senhor vai reconhecê-lo, se o conhecia – disse o homem que falava pelos outros, tirando, solene, seu chapéu e levantando a ponta da lona –, porque seu rosto está bem inteiro. – Oh! Como isso aconteceu, como isso aconteceu? – perguntei, indo de um a outro enquanto a cabana era fechada de novo. – Ele foi atropelado por uma locomotiva, senhor. Nenhum homem na Inglaterra sabia melhor o seu trabalho. Mas, de algum modo, ele não saiu do trilho externo. Foi em plena luz do dia. Ele tinha acendido a luz e estava com a lanterna na mão. Quando a locomotiva saiu do túnel, ele estava de costas e ela o atropelou. Aquele homem a conduzia e estava mostrando como aconteceu. Mostre ao cavalheiro, Tom. O homem, que vestia um traje escuro e áspero, deu um passo para trás até o lugar anterior na boca do túnel. – Vindo pela curva do túnel, senhor – ele disse –, eu vi o homem na ponta, como se o estivesse vendo através de uma luneta. Não havia tempo de conferir a velocidade, e eu sabia que ele era muito cuidadoso. Como ele parecia não dar atenção ao apito, eu o desliguei quando nós estávamos nos aproximando e gritei o mais alto que pude. – O que você falou? – Eu disse: “Aí embaixo! Cuidado! Cuidado! Pelo amor de Deus, saia do caminho!”. Eu me sobressaltei. – Ah! Foi um momento terrível, senhor. Eu não parava de gritar. Coloquei este braço na frente dos olhos para não ver e abanei o outro até o fim, mas não adiantou. Sem deixar a narrativa se prolongar em uma ou outra de suas circunstâncias curiosas, eu posso, encerrando o assunto, salientar a coincidência do aviso do motorista da locomotiva, que incluiu não apenas as palavras que o infeliz sinaleiro havia reproduzido para mim como sendo o que o perturbava, mas também eram as palavras que eu próprio – não ele – havia acrescentado, e isso só na minha mente, à gesticulação que ele imitou.
.
Seu posto era o lugar mais solitário e sombrio que eu já havia visto. Em ambos os lados, havia uma parede de umidade gotejante da rocha recortada, que eliminava toda e qualquer vista, exceto uma faixa do céu. O panorama, numa direção, era apenas um prolongamento torto desse grande calabouço; o panorama mais curto, na outra direção, terminava numa melancólica luz vermelha e na entrada ainda mais melancólica de um túnel escuro, em cuja arquitetura pesada havia um ar cruel, deprimente e ameaçador. Tão pouco sol penetrava naquele lugar que o cheiro era de terra e de morte; e tanto vento frio soprava por ali que me deixou arrepiado, como se eu tivesse deixado o mundo natural. Antes de ele se mover, eu estava perto o bastante para poder tocálo. Sempre sem desviar os olhos dos meus, ele deu um passo para trás e ergueu a mão. Esse era um posto solitário para ocupar (eu disse), e isso tinha chamado minha atenção quando olhei lá de cima. Uma visita era uma raridade, eu supunha; não uma raridade inoportuna, eu esperava. Em mim, ele via apenas um homem que tinha sido aprisionado dentro de limites estreitos por toda a vida e que, ao ser afinal libertado, tinha despertado um interesse recente por essas máquinas importantes. Com esse propósito, falei com ele; mas estou longe de ter certeza dos termos que usei, porque, além de eu não gostar de começar qualquer conversa, havia algo naquele homem que me atemorizava. Ele dirigiu o mais curioso olhar na direção da luz vermelha perto da boca do túnel e olhou tudo ao redor, como se alguma coisa estivesse faltando, e só então olhou para mim. A luz era parte de sua função? Ou não era? Ele respondeu numa voz baixa: – O senhor não sabe que é? Um pensamento monstruoso veio à minha mente enquanto eu examinava o olhar fixo e o rosto saturnino, de que ele era um espírito, não um homem. Eu tenho especulado, desde então, se poderia ter havido um distúrbio infeccioso na sua mente. Por minha vez, recuei. Porém, fazendo isso, detectei nos seus olhos um certo medo latente de mim. Isso afugentou meu pensamento monstruoso. – Você me olha – eu disse, forçando um sorriso – como se tivesse receio de mim. – Eu estava em dúvida – replicou ele – se já o tinha visto antes. – Onde? Ele apontou para a luz vermelha que olhara antes. – Ali? – perguntei. Cauteloso ao extremo, ele respondeu (mas sem som):
– Sim. – Meu bom homem, o que eu faria ali? De qualquer modo, seja como for, eu nunca estive ali, pode acreditar. – Acho que posso – ele retorquiu. – Sim, tenho certeza que posso acreditar. Sua aparência se iluminou, assim como a minha. Ele respondeu aos meus comentários com disposição e palavras bem escolhidas. Se ele tinha muito o que fazer ali? Sim, quer dizer, ele tinha bastante responsabilidade nos ombros; mas precisão e vigilância era o que exigiam dele; e de trabalho efetivo – tarefas braçais – ele tinha quase nada. Mudar aquele sinal, arrumar as luzes e girar sua manivela de ferro de vez em quando era tudo que ele tinha de fazer. Quanto àquelas muitas, longas e solitárias horas que eu parecia considerar importantes, ele podia apenas dizer que a rotina da sua vida tinha se moldado daquela forma e que ele se acostumara com aquilo. Aqui embaixo ele havia ensinado a si mesmo uma linguagem – isso se podia se chamar de aprendizado conhecer de vista as palavras e formar as próprias ideias cruas de suas pronúncias. Ele também havia trabalhado com frações e decimais e experimentado um pouco de álgebra, mas ele era, e tinha sido quando menino, fraco em algarismos. Perguntei se era necessário para ele, enquanto trabalhava, ficar sempre naquele canal de ar úmido sem nunca poder subir até a luz do sol, saindo do meio daquelas altas paredes de pedra? Ora, isso dependia do relógio e das circunstâncias. Sob algumas condições, aconteciam menos coisas na linha do trem do que sob outras, e o mesmo se podia dizer de certas horas do dia e da noite. Num dia claro de sol, ele escolhia momentos para ir até um pouco acima dessas sombras mais baixas; mas, estando sempre sujeito a ser chamado a qualquer hora por sua campainha, acontecia que, nessas horas, ficando de ouvidos atentos com redobrada ansiedade, o alívio era menor do que eu podia imaginar. Ele me levou à sua cabine, onde havia um fogareiro, uma escrivaninha para um livro de registros, no qual ele tinha de fazer certas anotações, um instrumento telegráfico com o disco, fita de papel e agulhas, e a pequena campainha da qual ele havia falado. Vendo-me confiante de que ele iria perdoar meu comentário sobre sua boa escolaridade e (eu esperava dizer isso sem ofensa) talvez um nível de instrução superior ao seu cargo, ele observou que exemplos de uma leve incongruência nesse sentido não faltavam nas grandes populações masculinas; que ele tinha escutado que isso era assim em fábricas, na polícia, até mesmo no último recurso desesperado, o exército; e que ele sabia que era assim, mais ou menos, em qualquer grupo de funcionários de uma grande estrada de ferro. Ele tinha sido, quando jovem (se é que eu podia acreditar nisso, sentado naquela cabana – ele mal podia), um estudante de filosofia natural e tinha frequentado aulas; porém, ele fizera bobagens, não aproveitara as oportunidades, decaíra; e nunca mais se levantou. Não tinha nenhuma reclamação a fazer. Havia feito sua própria cama e nela se deitado. Era tarde demais para fazer outra.
Tudo isso que eu aqui resumi ele contou de modo sereno, com suas pesadas e tristes lembranças divididas entre mim e o fogareiro. Lançava uma palavra de vez em quando: “senhor”, em especial quando se referia a sua juventude – como se estivesse me pedindo para entender que ele não alegava ser nada além daquilo que eu havia encontrado. Ele foi diversas vezes interrompido pela pequena campainha, e teve de ler mensagens e enviar respostas. Uma vez ele teve de se colocar do lado de fora da porta, exibir uma bandeira de sinalização enquanto um trem passava e fazer uma comunicação verbal ao maquinista. No desempenho de suas tarefas, eu o observei ser notavelmente preciso e vigilante, interrompendo seu discurso no meio de uma palavra e permanecendo quieto até cumprir com o que tinha de ser feito. Numa palavra, eu poderia indicar esse homem como um dos mais capacitados para aquele cargo, exceto pela circunstância de que, enquanto falava comigo, por duas vezes calou-se, pálido, virou o rosto na direção da pequena campainha quando esta não havia tocado, abriu a porta da cabana (que permanecia fechada para não deixar entrar a umidade insalubre) e olhou na direção da luz vermelha perto da boca do túnel. Em ambas as ocasiões, ele retornou para o fogareiro com um ar inexplicável, no qual eu havia reparado, mas sem conseguir definir naquele momento em que estávamos tão distantes de tudo. Eu disse, quando levantei para deixá-lo: – Você quase me faz pensar que conheci um homem satisfeito. (Devo admitir que disse isso para provocá-lo.) – Acho que eu era assim – ele retrucou, com a voz baixa que ele usara quando começou a falar –, mas eu estou transtornado, senhor, eu estou transtornado. Ele teria engolido as palavras se pudesse voltar atrás. Ele as disse, no entanto, e eu as usei rápido. – Com o quê? Qual é o problema? – É muito difícil de dizer, senhor. É muito, muito difícil de falar. Se o senhor algum dia me fizer outra visita, eu vou tentar lhe contar. – Mas é certo que pretendo lhe fazer outra visita. Diga, quando deve ser? – Eu saio de manhã cedo e devo estar de volta às dez horas, amanhã de noite, senhor. – Então eu venho às onze. Ele me agradeceu e me levou até a porta: – Vou iluminar o caminho com minha luz branca, senhor – disse ele, com sua peculiar voz baixa –, até o senhor encontrar o caminho para subir. Quando o senhor encontrar, não me chame. E, quando estiver no topo, não me chame. Seu comportamento parecia deixar o lugar ainda mais gelado para mim; porém, eu não disse nada além de: – Muito bem! – E quando você descer até aqui amanhã à noite, não me chame!
Quero lhe perguntar uma última coisa. O que o fez gritar “olá, aí embaixo” hoje? – Só Deus sabe – disse eu. – Gritei alguma coisa parecida. – Parecida não, senhor. Foram essas as exatas palavras. Eu as conheço muito bem. – Admito que foram essas as exatas palavras. Sem dúvida eu disse isso porque avistei o senhor aqui embaixo. – Por nenhuma outra razão? – Que outra razão eu poderia ter? – O senhor não teve a sensação de que elas lhe foram transmitidas de alguma maneira sobrenatural? – Não. Ele me desejou uma boa noite e levantou a luz. Caminhei ao lado da linha dos trilhos (com a sensação muito desagradável de que um trem vinha vindo atrás de mim) até encontrar o caminho. Era mais fácil escalar do que descer, e retornei para minha hospedaria sem nenhum problema. Na noite seguinte, pontual para o meu compromisso, coloquei o pé no primeiro ponto do zigue-zague no momento em que os relógios distantes estavam batendo as onze horas. Ele estava me esperando no fundo do desfiladeiro, com sua luz branca acesa. – Eu não o chamei – disse eu, quando estávamos próximos. – Posso falar agora? – Sem dúvida, senhor. – Então, boa noite, e eu lhe estendo a mão. – Boa noite, senhor, e eu lhe estendo a minha. Feito isso, caminhamos lado a lado para sua cabina, entramos, fechamos a porta e nos sentamos perto do fogareiro. – Tomei uma decisão, senhor – começou ele, inclinando-se frente tão logo nos sentamos e falando num tom pouca coisa acima de um sussurro –, que o senhor não vai precisar me perguntar duas vezes o que está me perturbando. Eu confundi o senhor com outra pessoa ontem à noite. Isso me perturba. – Ter se enganado? – Não. Essa outra pessoa. – Quem é? – Eu não sei. – Parece comigo? – Eu não sei. Nunca vi o rosto dessa pessoa. O braço esquerdo está na frente do rosto, e o braço direito está acenando, acenando vigorosamente sem parar. Assim. Segui seu movimento com o olhar. Era o movimento de um braço gesticulando com a maior aflição e veemência: “Pelo amor de Deus, saia do caminho!”. – Numa noite de luar – disse o homem –, eu estava sentado aqui quando ouvi uma voz gritar: “Olá, aí embaixo!”. Eu me levantei rápido, olhei por aquela porta e vi essa outra pessoa parada de pé ao lado da luz vermelha perto do túnel, acenando como lhe mostrei recém agora. A voz parecia rouca de tanto gritar e implorou: “Cuidado, cuidado!”. Eu peguei minha lanterna, liguei no vermelho e corri em direção ao vulto, gritando: “Qual é o problema? O que aconteceu? Onde?”. A figura estava parada do lado de fora da escuridão do túnel. Cheguei tão perto dela que me perguntei por que tapava os olhos com o braço. Corri direto até ela e estendi a mão para puxar-lhe a manga, quando ela se foi. – Para dentro do túnel? – perguntei. – Não. Pois eu corri para dentro do túnel, uns quinhentos metros. Parei e ergui a minha lanterna acima da cabeça. Vi as figuras daquela distância e vi as manchas de umidade escorrendo pelas paredes e gotejando no arco. Corri para fora de novo, mais rápido do que antes (porque senti uma repulsa mortal ao lugar), e olhei tudo à volta da luz vermelha com a minha lanterna e subi a escada de ferro até a galeria acima, e desci de volta, e corri até aqui. Telegrafei a ambos os lados: “Recebi sinal de alarme. Algo errado?”. A resposta retornou de ambos os lados: “Está tudo bem”. Resistindo ao toque lento de um dedo gelado descendo pela espinha, mostrei a ele como esse vulto era sem dúvida uma ilusão de óptica e como aqueles vultos, originando-se de uma lesão nos delicados nervos que comandam as funções dos olhos, podiam causar perturbações aos pacientes, sendo que alguns tomaram consciência da natureza de sua enfermidade e tinham até mesmo comprovado isso com experimentos consigo mesmos. Eu disse: – Apenas escute, por um instante, enquanto conversamos assim, em voz baixa, o vento nesse estranho vale fazendo vibrar os fios telegráficos, como se fosse uma harpa. É como se fosse um grito imaginário, não? Isto tudo estava muito bem, retrucou ele, depois que estivéramos escutando por algum tempo, e ele devia ter conhecimentos sobre ventos e fios – ele, que seguidamente passava longas noites de inverno ali, sozinho, observando. Mas pediu licença para dizer que não tinha terminado. Eu me desculpei, e ele, bem devagar, acrescentou estas palavras segurando o meu braço: – Seis horas depois da aparição, um acidente memorável aconteceu nesta linha e, dez horas depois, os mortos e feridos foram trazidos do interior do túnel até o exato ponto onde o vulto havia aparecido. Um arrepio desagradável tomou conta de mim, mas fiz o possível para afastá-lo. Não se podia negar, respondi, que aquilo era uma notável coincidência, calculada de maneira minuciosa para impressionar sua mente. Mas era inquestionável que coincidências notáveis ocorrem com frequência, e elas devem ser consideradas em se tratando de tal assunto. Devo admitir que ainda acrescentei (pois pensei ter notado que ele iria fazer uma objeção) que homens de bom-senso não permitiam que as coincidências interferissem nos seus planos da vida cotidiana. Ele mais uma vez me pediu licença para dizer que não tinha terminado.
Eu mais uma vez me desculpei por ter sucumbido às interrupções. – Isso – disse ele, de novo colocando a mão no meu braço e espiando por cima do ombro com seus olhos encovados – aconteceu faz um ano. Seis ou sete meses se passaram, e eu tinha me recuperado da surpresa e do choque quando, numa manhã, à medida que o dia ia clareando, eu, parado na porta, olhei na direção da luz vermelha e vi o espírito de novo. Ele parou, com o olhar fixo em mim. – Ele gritou? – Não, ficou calado. – Ele abanou? – Não. Ele se inclinou para a luz, com as duas mãos cobrindo o rosto. Assim. Mais uma vez, segui seu movimento com os olhos. Era um gesto de luto. Eu tinha visto tal pose nas figuras de pedra dos cemitérios. – Você foi até ele? – Eu entrei de volta e me sentei, em parte para organizar os pensamentos e em parte porque ele tinha me deixado tonto. Quando fui até a porta outra vez, a luz do dia estava batendo em mim, e o fantasma tinha ido embora. – Mas nada aconteceu? Não houve nenhuma consequência disso? Ele me tocou no braço com o dedo indicador duas ou três vezes, fazendo que sim com a cabeça, a expressão horripilante a cada vez. – Naquele mesmo dia, enquanto um trem saía do túnel, eu percebi, num vagão, na janela do meu lado, o que parecia ser uma confusão de mãos e cabeças e alguma coisa abanando. Vi isso a tempo de sinalizar para o maquinista “Pare!” Ele desligou a locomotiva e puxou os freios, mas o trem ainda se arrastou por uns cento e cinquenta metros ou mais. Corri para o trem e, enquanto corria, escutei gritos terríveis e muito choro. Uma moça linda teve morte instantânea em um dos compartimentos. Ela foi trazida para cá e colocada bem aqui, neste pedaço de chão entre nós. Sem querer, empurrei minha cadeira para trás, enquanto desviava o olhar das tábuas para as quais ele mesmo tinha apontado. – Verdade, senhor. Verdade. Precisamente como aconteceu, é o que estou lhe dizendo. Eu não conseguia pensar em nada para dizer, nada de pertinente, e minha boca estava seca, muito seca. O vento e os fios elétricos acolheram a história com um longo gemido de lamento. Ele recomeçou: – Agora, senhor, preste atenção e julgue a que ponto a minha mente está perturbada. O espírito voltou há uma semana. Desde então, ele tem estado ali, de vez em quando, aparece e desaparece. – Na luz? – No aviso luminoso de perigo. – O que lhe parece que ele está fazendo? Ele repetiu, como se fosse possível, com maior aflição e veemência, aquela gesticulação anterior: “Pelo amor de Deus, saia do caminho!”.
Então continuou: – Eu não tenho paz nem descanso com ele. Ele me chama, por muitos minutos sem interrupção, de maneira agoniada: “Aí embaixo! Cuidado!”. Fica me acenando. Toca a minha pequena campainha... Eu o interrompi nesse ponto: – Tocou a sua campainha ontem à noite quando eu estava aqui e você foi até a porta? – Duas vezes. – Pois veja – eu disse – como a sua imaginação o engana. Meus olhos estavam na campainha, meus ouvidos estavam atentos à campainha e, se eu sou um homem vivo, a campainha não tocou. Nem uma, nem duas vezes, exceto quando tocou no curso natural das coisas físicas, porque a estação estava se comunicando com você. Ele balançou a cabeça: – Eu nunca cometi um erro desses, senhor. Eu nunca confundi o toque da campainha do espírito com o toque da campainha humana. O toque do fantasma é uma vibração estranha na campainha, que se origina do nada, e eu não posso afirmar se o movimento da campainha é perceptível ao olhar. Eu não me surpreendo que o senhor não ouviu. Mas eu ouvi. – E o espírito parecia estar lá, quando você olhou para fora? – Ele estava lá. – Das duas vezes? Ele repetiu firme: – Das duas vezes! – Você pode vir comigo até a porta e ver se ele está lá agora? Ele mordeu o lábio inferior como se estivesse um pouco contrariado, mas se levantou. Eu abri a porta e parei nos degraus, enquanto ele ficou na porta. Lá estava o aviso luminoso de perigo. Lá estava a boca sombria do túnel. Lá estavam as altas e úmidas paredes do corte da ferrovia na montanha. Lá estavam as estrelas no céu. – Você está o vendo? – perguntei, sempre observando o seu rosto. Seus olhos estavam saltados e forçavam a vista, mas não muito mais, talvez, do que os meus, quando direcionei-os avidamente para o mesmo ponto. – Não – respondeu –, ele não está lá! – Concordo – disse eu. Nós entramos de novo, fechamos a porta e retomamos nossos assentos. Eu estava pensando em como melhorar essa vantagem, se é que podia ser chamada de vantagem, quando ele começou a conversar de um modo tão casual, tomando como certo que entre nós não havia nenhum questionamento sério quanto aos fatos, que me senti colocado na mais fraca das posições. – Agora o senhor já está entendendo perfeitamente – disse ele – que o que me perturba tanto é uma dúvida terrível: o que esse espírito significa?
Eu não tinha certeza, retruquei, de que estava entendendo perfeitamente. – O que ele quer avisar? – perguntou, remoendo, com seus olhos fixos no fogareiro e apenas de vez em quando dirigindo o olhar para mim. – O que é o perigo? Onde está o perigo? Tem um perigo ameaçando algum lugar da linha. Alguma calamidade tenebrosa vai acontecer. Não se pode duvidar desta terceira vez, não depois do que aconteceu antes. Mas com certeza eu sou o alvo dessa perseguição cruel. O que eu posso fazer? Ele puxou seu lenço do bolso e secou as gotas de suor da testa. – Se eu telegrafasse perigo, para qualquer um dos lados, ou para os dois, eu não teria uma razão para dar – continuou, enxugando as palmas das mãos. – Eu só ia me meter em apuros, e não ia adiantar nada. Iam pensar que estou louco. É assim que ia ser: Mensagem: “Perigo! Cuidado!”. Resposta: “Que Perigo? Onde?”. Mensagem: “Não sei, mas, pelo amor de Deus, cuidado!”. Iam me substituir. O que mais eles poderiam fazer? Seu sofrimento mental era lamentável de se ver. Aquilo era uma tortura para um homem consciencioso, oprimido além dos limites por uma responsabilidade incompreensível envolvendo vidas humanas. – Quando ele parou pela primeira vez embaixo do aviso luminoso de perigo – continuou, puxando o cabelo preto para trás, depois esfregando as mãos nas têmporas, num pico de ansiedade febril –, por que não me dizer onde o acidente ia acontecer, se é que podia acontecer? Por que não me dizer como podia ser evitado, se é que podia ser evitado? E, da segunda vez, ao invés de esconder o rosto, por que não me disse: “Ela vai morrer. Faça com que a deixem em casa”? Se veio, naquelas duas ocasiões, só para me mostrar que os seus avisos eram verdadeiros, e então me preparar para uma terceira vez, por que não me avisa claramente agora? E eu, Deus me ajude! Um mero sinaleiro nesta estação solitária! Por que não ir até alguém com reputação para que acreditem nele e com poder para agir? Quando o vi nesse estado, percebi que, pelo bem daquele pobre homem, assim como pela segurança pública, o que eu tinha a fazer, por ora, era acalmar sua mente. Por isso, deixando de lado qualquer questão da ordem do real ou irreal entre nós, expliquei-lhe que todo homem que se desincumbisse de forma plena daquele seu ofício teria de agir bem, e que pelo menos ele podia se consolar com o fato de que sabia qual era o seu dever, mesmo não entendendo aquelas desconcertantes aparições. Nesse empenho eu fui mais bem-sucedido do que na tentativa de persuadi-lo a esquecer sua convicção. Ele ficou calmo; as ocupações incidentais do seu cargo, à medida que a noite avançava, começaram a demandar-lhe mais atenção, e eu me despedi às duas da madrugada. Eu havia me oferecido para ficar a noite toda, mas ele disse: “Nem pensar”. Que eu, mais de uma vez, olhei para trás em direção à luz vermelha enquanto subia a trilha; que eu não gostava da luz vermelha; e que eu teria dormido mal se a minha cama estivesse embaixo dela, não vejo razão para esconder nada disso. Também não gostei da sequência de dois acidentes mais a garota morta, e não vejo razão para esconder isso também.
Mas o que mais percorria meus pensamentos era a reflexão sobre como eu deveria agir, tendo me tornado o receptor dessa revelação. Eu tinha provado ao homem que ele era inteligente, vigilante, zeloso e correto; mas por quanto tempo ele permaneceria assim em seu estado mental? Apesar de estar numa posição subordinada, ainda assim ele possuía uma obrigação importantíssima, e será que eu gostaria (por exemplo) de apostar minha própria vida na probabilidade de que ele continuaria a cumpri-la com precisão? Incapaz de dominar o sentimento de que poderia cometer uma injustiça se comunicasse para os seus superiores na companhia o que ele havia me relatado, sem deixar de agir corretamente com ele e lhe propor um meio-termo, eu, no final das contas, resolvi me oferecer para acompanhá-lo (guardando seu segredo por ora) ao mais experiente médico clínico conhecido naquele lugar e ouvir sua opinião. Uma mudança no seu horário de trabalho ocorreria na noite seguinte, ele estimara, e ele sairia uma ou duas horas depois do nascer do sol e voltaria logo depois do poente. Marquei meu retorno de acordo com esses horários. A noite seguinte estava encantadora, e eu saí cedo para aproveitá-la. O sol ainda não havia se posto quando atravessei a trilha do campo perto do topo do corte profundo da ferrovia. Eu poderia prolongar minha caminhada por mais uma hora, pensei comigo mesmo, meia hora a mais e meia hora a menos e, então, seria a hora de ir para a cabina do sinaleiro. Antes de seguir meu passeio, parei na beira do precipício e automaticamente olhei para baixo, no ponto onde o vira pela primeira vez. Não posso descrever a sensação que se apoderou de mim quando vi, perto da boca do túnel, a aparição de um homem, o braço esquerdo sobre os olhos, abanando veemente o braço direito. O horror indescritível que me afligiu passou num instante, pois num instante percebi que essa aparição era um homem de verdade, e que havia um pequeno grupo de outros homens, parados numa distância próxima, para quem ele parecia estar repetindo o gesto. O aviso luminoso de perigo ainda não estava aceso. Diante de seu poste, uma cabaninha baixa, totalmente nova pra mim, tinha sido feita de alguns suportes de madeira e lona encerada. Não parecia maior do que uma cama. Com uma irresistível sensação de que alguma coisa estava errada – com um medo perceptível e autorrepreensivo de que um erro fatal tinha acontecido por eu ter deixado o homem lá, sem ter enviado ninguém para examinar ou corrigir o que ele fez – desci a trilha pedregosa com a maior velocidade que consegui. – Qual é o problema? – perguntei ao homem. – O sinaleiro morreu esta manhã, senhor. – Não o homem daquela cabana? – Sim, senhor. – Não o homem que eu conheço? – O senhor vai reconhecê-lo, se o conhecia – disse o homem que falava pelos outros, tirando, solene, seu chapéu e levantando a ponta da lona –, porque seu rosto está bem inteiro. – Oh! Como isso aconteceu, como isso aconteceu? – perguntei, indo de um a outro enquanto a cabana era fechada de novo. – Ele foi atropelado por uma locomotiva, senhor. Nenhum homem na Inglaterra sabia melhor o seu trabalho. Mas, de algum modo, ele não saiu do trilho externo. Foi em plena luz do dia. Ele tinha acendido a luz e estava com a lanterna na mão. Quando a locomotiva saiu do túnel, ele estava de costas e ela o atropelou. Aquele homem a conduzia e estava mostrando como aconteceu. Mostre ao cavalheiro, Tom. O homem, que vestia um traje escuro e áspero, deu um passo para trás até o lugar anterior na boca do túnel. – Vindo pela curva do túnel, senhor – ele disse –, eu vi o homem na ponta, como se o estivesse vendo através de uma luneta. Não havia tempo de conferir a velocidade, e eu sabia que ele era muito cuidadoso. Como ele parecia não dar atenção ao apito, eu o desliguei quando nós estávamos nos aproximando e gritei o mais alto que pude. – O que você falou? – Eu disse: “Aí embaixo! Cuidado! Cuidado! Pelo amor de Deus, saia do caminho!”. Eu me sobressaltei. – Ah! Foi um momento terrível, senhor. Eu não parava de gritar. Coloquei este braço na frente dos olhos para não ver e abanei o outro até o fim, mas não adiantou. Sem deixar a narrativa se prolongar em uma ou outra de suas circunstâncias curiosas, eu posso, encerrando o assunto, salientar a coincidência do aviso do motorista da locomotiva, que incluiu não apenas as palavras que o infeliz sinaleiro havia reproduzido para mim como sendo o que o perturbava, mas também eram as palavras que eu próprio – não ele – havia acrescentado, e isso só na minha mente, à gesticulação que ele imitou.
MANUSCRITO DE UM LOUCO
Sim, de um louco! Como essa palavra teria afligido meu coração muito tempo atrás! Como teria despertado o terror que costumava me assolar algumas vezes, lançando o sangue a zunir e formigar pelas minhas veias, até o suor frio de medo estagnar em grandes gotas sobre a minha pele e os meus joelhos baterem um no outro de pavor! Agora, no entanto, eu gosto dela. É uma boa denominação. Apresente-me o monarca cuja carranca zangada foi alguma vez tão temida como o olhar penetrante de um louco – cujo machado e forca foram quase tão infalíveis quanto as mãos fatais de um louco. Rá! Rá! É uma coisa formidável ser louco! Ser espiado como um leão selvagem através das barras de ferro – ranger os dentes e uivar, por toda a longa e calma noite, ao alegre tilintar de uma corrente pesada – e rolar e se enroscar na palha, transportado por música tão feroz. Viva o hospício. Ah! É um lugar fora do comum! “Eu me lembro dos dias em que eu tinha medo de ser louco; quando eu costumava ter sobressaltos durante o sono, cair de joelhos e rezar para ser poupado da maldição da minha raça; quando eu fugia de uma aparência de felicidade e divertimento para me esconder em algum lugar solitário e passava as horas cansativas observando a febre que consumiria meu cérebro aumentar. Eu sabia que a loucura estava misturada com meu próprio sangue e com o tutano dos meus ossos! Que uma geração havia falecido sem que a peste aparecesse entre eles e que eu seria o primeiro na qual ela ressuscitaria. Eu sabia que devia ser assim; sempre tinha sido assim e sempre seria assim; e quando eu me encolhia em algum canto sombrio de um quarto cheio de gente e via homens sussurrar, apontar e olhar na minha direção, sabia que eles estavam falando sobre o louco condenado. Em resposta, eu me retirava às escondidas para me deprimir na solidão. “Fiz isso por anos; longos, longos anos foram aqueles. As noites aqui são longas às vezes – muito longas; mas elas não são nada perto daquelas noites inquietas, e sonhos terríveis eu tinha naquela época. Eu me arrepio só de lembrá-las. Formas grandes e sombrias com rostos maliciosos e zombeteiros agachavam-se nos cantos do quarto e curvavam-se sobre minha cama à noite, instigando-me a loucura. Elas me contaram, em sussurros fracos, que o chão da velha casa na qual o pai de meu pai morreu fora manchado com seu próprio sangue, derramado por sua própria mão em loucura enfurecida. Pressionei meus ouvidos com os dedos, mas elas gritaram dentro da minha cabeça até o quarto ressoar com isto: que, na geração anterior a dele, a loucura estava adormecida, mas que seu avô tinha vivido por anos com as mãos acorrentadas ao solo, para impedi-lo de cortar-se em pedaços. Eu sabia que elas falavam a verdade – eu bem sabia disso. Eu havia descoberto há anos, apesar de tentarem esconder isso de mim. Mas... arrá! Eu era muito esperto para eles, mesmo louco como eles me julgavam ser. “Finalmente, ela tomou conta de mim e eu me perguntei como pude temê-la. Poderia percorrer o mundo agora e rir e gritar com o melhor deles. Eu sabia que era louco, mas eles nem suspeitavam. Como eu costumava me abraçar com deleite quando pensava na bela peça que estava lhes pregando em razão de outrora ficarem apontando para mim e me olhando de soslaio, quando eu não era louco, mas apenas temia que um dia me tornasse um! E como eu costumava rir de alegria quando estava sozinho e pensava como guardei bem meu segredo e o quão rápido meus gentis amigos teriam me abandonado se soubessem da verdade. Eu poderia ter gritado com êxtase quando jantei a sós com algum bom camarada barulhento, pensando no quão pálido ele ficaria e veloz ele correria, se soubesse que o amigo querido, sentado perto dele afiando uma faca luminosa e brilhante, era um louco com todo o poder, e um tanto de vontade, de cravá-la no seu coração. Ah! Era uma vida divertida! “Riquezas tornaram-se minhas, uma fortuna afluiu sobre mim e eu me deliciava com prazeres intensificados mil vezes mais pela consciência do meu segredo bem guardado. Herdei uma propriedade. A lei – a própria lei de vista aguçada – tinha sido lograda e entregara milhares de libras disputadas por outros nas mãos de um louco. Onde estava o juízo dos homens perspicazes e de mentes sadias? Onde estava a destreza dos advogados, ávidos por descobrir uma falha? A astúcia do louco tinha enganado a todos. “Eu tinha dinheiro. Como eu era cortejado! Eu gastei com abundância. Como eu era elogiado! Como aqueles três presunçosos e arrogantes irmãos se humilhavam na minha frente! O velho pai de cabeça branca também – tamanha consideração – tamanho respeito – tamanha amizade devotada – ele me idolatrava! O velho tinha uma filha, e os jovens, uma irmã; e todos os cinco eram pobres. Eu era rico e, quando casei com a moça, vi um sorriso de triunfo aparecer de leve nos rostos dos parentes necessitados dela, enquanto eles pensavam no seu esquema bem planejado e no seu belo prêmio. Era eu quem devia estar sorrindo. Sorrir! Rir às gargalhadas, arrancar os cabelos e rolar no chão com guinchos de divertimento. Eles nem desconfiavam que a tinham casado com um louco. “Espere! Se soubessem disso, será que eles a teriam salvado? A felicidade de uma irmã contra o ouro do seu marido. A mais leve pluma eu sopro para o ar, em oposição à corrente vistosa que adorna meu corpo. “Em uma coisa fui enganado, mesmo com toda a minha astúcia. Se eu não tivesse enlouquecido – pois apesar de nós loucos sermos inteligentes o bastante, nós ficamos confusos às vezes – eu deveria saber que a moça preferiria ter sido colocada dura e gelada num simples caixão de chumbo, a ser levada como noiva invejada para minha rica e resplandecente casa. Eu deveria saber que o seu coração era do rapaz de olhos escuros, cujo nome uma vez eu a ouvi murmurar em seu sono perturbado, e que ela tinha sido sacrificada para mim, a fim de aliviar a pobreza do velho de cabeça branca e dos irmãos presunçosos.
“Eu não lembro de formas e rostos agora, mas eu sei que a moça era bonita. Eu sei que ela era, porque nas noites claras de luar, quando acordo de modo brusco do meu sono e tudo está quieto à minha volta, eu vejo, em pé, silencioso e imóvel, em um dos cantos desta cela, um frágil e debilitado vulto, de cabelo preto e comprido que se derrama pelas suas costas e se movimenta mesmo quando não está ventando, e olhos que me encaram e nunca piscam, nem fecham. Silêncio! O sangue esfria no meu coração enquanto escrevo – aquela forma é dela; o rosto está muito pálido, e os olhos têm um brilho vítreo, mas eu os conheço bem. Aquele vulto nunca se move, nunca franze a testa, nem mexe os lábios como outros que ocupam este lugar algumas vezes fazem; mas ela é muito mais apavorante pra mim, até mais do que os espíritos que me provocavam há tantos anos – ela me vem fresca do túmulo e é tão cadavérica. “Por quase um ano, eu vi aquele rosto ficar cada vez mais pálido; por quase um ano, eu vi as lágrimas vertendo, furtivas, pelas bochechas tristes, e nunca soube a causa. Contudo, finalmente descobri. Eles não poderiam me esconder aquilo por muito tempo. Ela nunca tinha gostado de mim; eu nunca pensei que gostasse; ela desprezava minha fortuna e odiava o esplendor em que eu vivia, mas eu não contava com isto: ela amava outro. Isso eu nunca tinha pensado. Estranhos sentimentos tomaram conta de mim, e o pensamento, invadindo-me à força por algum estranho poder secreto, rodopiava e rodopiava no meu cérebro. Eu não a odiava, apesar de odiar o rapaz por quem ela não parava de chorar. Eu tinha pena – sim, eu tinha pena – da vida deprimente à qual seus parentes frios e egoístas a tinham condenado. Eu sabia que ela não poderia viver por muito tempo, mas o pensamento de que, antes de sua morte, ela poderia dar à luz algum ser infeliz, destinado a transmitir loucura à sua prole, fez eu me decidir. Resolvi matá-la. “Por muitas semanas, pensei em veneno, e depois em afogamento, e depois em incêndio. Uma bela visão: a casa imponente em chamas e a esposa do louco ardendo lentamente, virando cinzas. Pense também na graça de uma boa recompensa e em algum homem são balançando ao vento por um ato que nunca cometeu, e tudo isso por meio da astúcia de um louco. Eu pensei inúmeras vezes sobre isso, mas, por fim, desisti. Ah! O prazer de afiar a navalha dia após dia, sentindo o fio cortante e pensando no talho que a lâmina fina e reluzente faria com um só golpe. “Enfim, os velhos espíritos, que antes estiveram comigo por tantas vezes, sussurraram no meu ouvido que a hora chegara e jogaram a navalha aberta na minha mão. Eu agarrei firme a navalha, levantei suavemente da cama e me inclinei sobre minha esposa adormecida. Seu rosto estava enterrado nas mãos. Eu as retirei suavemente, e elas caíram indiferentes no peito. Ela estivera chorando, pois os rastros das lágrimas ainda estavam molhados nas bochechas. Seu rosto estava calmo e sereno, e, enquanto eu o observava, um sorriso tranquilo iluminou suas feições pálidas. Eu pousei minha mão suavemente no seu ombro. Ela se sobressaltou – era apenas um sonho passageiro. Eu me inclinei para a frente mais uma vez. Ela gritou e acordou. “Um movimento da minha mão e ela nunca mais emitiria um grito ou som. Mas eu fiquei assustado e recuei. Seus olhos estavam fixos nos meus. Não sei como foi, mas eles me intimidavam e me davam medo, e eu fraquejei sob aquele olhar. Ela levantou da cama, ainda me encarando firme e fixamente. Eu tremi; a navalha estava na minha mão, mas eu não conseguia me mexer. Ela foi em direção à porta. Quando chegou perto da porta, ela se virou e desviou o olhar do meu rosto. O feitiço estava quebrado. Eu saltei à frente e a agarrei pelo braço. Emitindo guinchos em cima de guinchos, ela sucumbiu e foi ao chão. “Naquele momento, eu poderia tê-la matado sem esforço, mas a casa fora alarmada. Eu ouvi o ruído de passos na escada. Recoloquei a navalha na gaveta de costume, abri a porta e gritei por auxílio. “Eles vieram e a levantaram, colocando-a na cama. Ela ficou ali, desmaiada por horas, e quando a vida, o olhar e a fala retornaram, seu juízo a tinha abandonado; e ela delirou, de modo selvagem e furioso. “Médicos foram chamados – grandes homens que chegavam à minha porta em carruagens confortáveis, com belos cavalos e vistosos criados. Por semanas, eles ficaram à beira do seu leito. Fizeram uma junta médica e trocaram ideias em voz baixa, muito solenes, em um outro quarto. Um deles, o mais inteligente e o mais célebre do grupo, conversou comigo à parte e pediu-me que me preparasse para o pior e falou (para mim, o louco) que minha esposa estava louca. Ele se parou próximo a mim, junto a uma janela aberta, seu olhar observando a minha expressão, sua mão no meu braço. Com um só empurrão, eu poderia tê-lo arremessado na rua lá embaixo. Teria sido um passatempo raro fazê-lo, mas o meu segredo estava em jogo, e eu o deixei ir. Poucos dias depois, eles me falaram que eu devia mantê-la sob algum tipo de contenção: eu deveria providenciar um enfermeiro para ela. Eu! Eu fui para o campo aberto, onde ninguém poderia me ouvir, e ri até a atmosfera ressoar com os meus gritos. “Ela morreu no dia seguinte. O velho de cabeça branca juntou-se a ela na morte, e os irmãos arrogantes derramaram uma única lágrima sobre o cadáver insensível da irmã, aquela a cujos sofrimentos eles tinham assistido, no decorrer de sua vida, com músculos de ferro. Tudo isso era alimento para minha secreta alegria, e eu ri, por trás do lenço branco que eu segurava na frente do rosto, na carruagem, enquanto nós íamos para casa, até as lágrimas surgirem nos meus olhos. “Mas, apesar de ter realizado o meu objetivo e de tê-la matado, eu estava inquieto e transtornado, e senti que, em breve, meu segredo deveria ser revelado. Eu não conseguiria esconder a alegria selvagem e a felicidade que ferviam dentro de mim e que, quando estava sozinho em casa, me faziam dar pulos e bater palmas e dançar e rodopiar e rugir em voz alta. Quando eu saía e via as multidões de pessoas ocupadas, andando apressadas pelas ruas; ou ia ao teatro e ouvia os sons das notas musicais, e observava as pessoas dançando, eu sentia tamanha exultação que poderia ter avançado entre eles; e eu os cortaria em pedaços, desmembrando-os, braço por braço, perna por perna, e eu teria uivado em êxtase. Mas eu rilhava meus dentes e fincava os pés no chão e enterrava minhas unhas afiadas nas palmas das mãos. Eu me controlei, e ninguém sabia, ainda, que eu era louco. “Eu me lembro – apesar de ser uma das últimas coisas de que consigo lembrar (por ora, eu confundo a realidade com os meus sonhos e, tendo tanto o que fazer, e sendo continuamente apressado aqui, fico sem tempo para separar uma coisa da outra, porque tem alguma estranha confusão na qual uma e outra ficam envolvidas) – lembro de como eu, enfim, trouxe o assunto à tona. Rá, rá, rá! Acho que eu vejo os seus olhares assustados agora e sinto a desenvoltura com a qual eu os atirei para longe de mim e arremessei o meu punho fechado bem no meio das suas caras brancas e então voei como o vento e os deixei berrando e gritando, lá atrás. A força de um gigante toma conta de mim quando penso nisso. Eis aí – vejam como esta barra de ferro se dobra com a fúria da minha torção. Eu podia quebrar esta barra de ferro como se fosse um graveto, mas tem corredores compridos aqui, com muitas portas – acho que eu não ia conseguir encontrar a saída com tantas portas e, mesmo se encontrasse, eu sei que tem portões de ferro lá embaixo, que eles mantêm trancados e travados com barras de ferro. Eles sabem o louco inteligente que eu tenho sido e estão orgulhosos de me terem aqui, só para se exibirem. “Deixem-me ver: sim, eu fui descoberto. Era tarde da noite quando cheguei em casa e encontrei o mais orgulhoso dos três irmãos orgulhosos esperando por mim – negócios urgentes, foi o que ele disse; disso eu me recordo bem. Eu odiava aquele homem com todo o ódio de um louco. Muitas e muitas vezes, os meus dedos ansiaram por fazê-lo em pedaços. Me avisaram que ele estava me esperando. Corri prontamente para o andar superior. Ele queria conversar comigo. Eu dispensei os criados. Era tarde, e nós ficamos a sós – pela primeira vez. “Mantive meu olhar cuidadosamente desviado do olhar dele a princípio, pois eu sabia que ele sequer imaginava – e eu me senti envaidecido de saber que ele não sabia – que nos meus olhos cintilava como fogo a luz da loucura. Nos sentamos em silêncio por alguns minutos. Enfim, ele falou. Meu recente desregramento e meus estranhos comentários, feitos tão cedo após a morte de sua irmã, eram um insulto à sua memória. Fazendo a associação entre muitas circunstâncias que, a princípio, haviam escapado de sua observação, ele concluiu que eu não a havia tratado bem. Ele desejava saber se estava certo em inferir que eu pretendia manchar a memória de sua irmã e desrespeitar sua família. Era esperado dele, em razão do uniforme que vestia, exigir essa explicação. “Esse homem tinha um cargo no exército – um cargo comprado com o meu dinheiro e com o sofrimento de sua irmã! Esse era o homem que tinha sido elemento-chave no plano para me enganar e se apoderar de minha fortuna. Esse era o homem que tinha sido o principal instrumento em forçar sua irmã a se casar comigo, sabendo muito bem que o coração dela pertencia àquele rapaz choramingão. Esperava uma explicação em razão do seu uniforme! A libré da degradação! Eu virei o olhar na direção dele, não pude evitar, mas não disse uma palavra. “Percebi uma mudança súbita na sua postura sob meu olhar fixo. Ele era um homem corajoso, mas empalideceu e foi para trás na cadeira. Arrastei a minha para mais perto dele e, enquanto ria – eu estava muito feliz naquela hora –, eu o vi estremecer. Senti a loucura crescendo dentro de mim. Ele estava com medo de mim. “– Você gostava muito de sua irmã quando ela era viva – eu disse. – Muito! “Ele olhou preocupado ao seu redor, e eu vi sua mão agarrando o encosto da cadeira, mas ele não disse nada. “– Seu canalha – eu disse –, eu desmascarei você, eu descobri seus planos diabólicos contra mim, eu sei que o coração dela estava ligado a outro antes de você obrigá-la a se casar comigo. Eu sei! Eu sei! “Ele pulou de repente de sua cadeira, sacudindo-a no ar, e me pediu que recuasse; porque eu tinha tratado de me aproximar dele cada vez mais enquanto ia falando. “Eu mais gritava do que falava, pois sentia emoções tumultuadas passando em turbilhão pelas minhas veias, e os velhos espíritos sussurrando e me incitando a arrancar o coração dele fora. “– Dane-se você – eu disse, me levantando e avançando sobre ele – eu matei a sua irmã. Eu sou louco. Eu vou acabar com você. Sangue, sangue! Quero sangue! “De um golpe só, atirei para o lado a cadeira que ele jogou em mim, movido pelo terror, e me atraquei nele; e, com um encontrão violento, rolamos os dois no chão. “Foi uma bela luta aquela, pois ele era um homem alto e forte, brigando por sua vida, e eu, um louco poderoso, sedento por destruí-lo. Eu sabia que nenhuma força poderia se comparar à minha e eu estava certo. Certo de novo, apesar de louco! Os golpes dele foram enfraquecendo. Eu me ajoelhei sobre seu peito e apertei firme seu pescoço musculoso com as duas mãos. Seu rosto ficou roxo, seus olhos estavam saltando da cabeça, e, com a língua de fora, ele parecia estar zombando de mim. Apertei mais forte. “De repente, a porta se abriu com um tremendo barulho, e uma multidão entrou correndo, gritando uns para os outros para que segurassem o louco. “Meu segredo estava exposto, e minha única luta agora era para que me deixassem livre. Consegui ficar de pé antes que pusessem as mãos em mim, me atirei entre os meus agressores e abri caminho com o meu braço forte, como se estivesse empunhando uma machadinha, e derrubei-os diante de mim. Consegui alcançar a porta, escorreguei corrimão abaixo e, num instante, estava na rua. “Reto e rápido eu corri, e ninguém se atreveu a me deter. Ouvi o barulho de passos atrás de mim e redobrei a velocidade. O barulho foi se desvanecendo na distância e, por fim, evaporou-se por completo. Mas eu continuei correndo e saltando, por pântano e riacho, sobre cercas e muros, com uma gritaria selvagem que era imitada por estranhas criaturas que foram se juntando em bando ao meu redor, intensificando a barulheira até que ela perfurasse o próprio ar. Alcei voo nos braços de demônios que se deixavam levar pelo vento e pelo caminho iam devastando cercas vivas e taludes e que me faziam girar e girar com um zunido e com uma velocidade que fez minha cabeça flutuar, até que, por fim, arremessaramme para longe deles com um golpe violento e eu desabei pesadamente na terra. Quando acordei, estava aqui – aqui nesta cela cinzenta, onde a luz do dia raramente aparece, e a lua, furtiva, penetra em raios que apenas servem para mostrar as sombras escuras que me cercam e aquele vulto silencioso no seu canto de sempre. Quando me deito e não consigo dormir, às vezes escuto estranhos guinchos e gritos de partes distantes deste vasto lugar. O que são, eu não sei, mas eles não vêm daquela figura pálida, nem ela se importa com eles. Porque, desde as primeiras sombras do crepúsculo até a primeira luz da manhã, ela fica parada, imóvel, sempre no mesmo lugar, escutando a música da minha corrente de ferro e assistindo às minhas cambalhotas na minha cama de palha.”
Sim, de um louco! Como essa palavra teria afligido meu coração muito tempo atrás! Como teria despertado o terror que costumava me assolar algumas vezes, lançando o sangue a zunir e formigar pelas minhas veias, até o suor frio de medo estagnar em grandes gotas sobre a minha pele e os meus joelhos baterem um no outro de pavor! Agora, no entanto, eu gosto dela. É uma boa denominação. Apresente-me o monarca cuja carranca zangada foi alguma vez tão temida como o olhar penetrante de um louco – cujo machado e forca foram quase tão infalíveis quanto as mãos fatais de um louco. Rá! Rá! É uma coisa formidável ser louco! Ser espiado como um leão selvagem através das barras de ferro – ranger os dentes e uivar, por toda a longa e calma noite, ao alegre tilintar de uma corrente pesada – e rolar e se enroscar na palha, transportado por música tão feroz. Viva o hospício. Ah! É um lugar fora do comum! “Eu me lembro dos dias em que eu tinha medo de ser louco; quando eu costumava ter sobressaltos durante o sono, cair de joelhos e rezar para ser poupado da maldição da minha raça; quando eu fugia de uma aparência de felicidade e divertimento para me esconder em algum lugar solitário e passava as horas cansativas observando a febre que consumiria meu cérebro aumentar. Eu sabia que a loucura estava misturada com meu próprio sangue e com o tutano dos meus ossos! Que uma geração havia falecido sem que a peste aparecesse entre eles e que eu seria o primeiro na qual ela ressuscitaria. Eu sabia que devia ser assim; sempre tinha sido assim e sempre seria assim; e quando eu me encolhia em algum canto sombrio de um quarto cheio de gente e via homens sussurrar, apontar e olhar na minha direção, sabia que eles estavam falando sobre o louco condenado. Em resposta, eu me retirava às escondidas para me deprimir na solidão. “Fiz isso por anos; longos, longos anos foram aqueles. As noites aqui são longas às vezes – muito longas; mas elas não são nada perto daquelas noites inquietas, e sonhos terríveis eu tinha naquela época. Eu me arrepio só de lembrá-las. Formas grandes e sombrias com rostos maliciosos e zombeteiros agachavam-se nos cantos do quarto e curvavam-se sobre minha cama à noite, instigando-me a loucura. Elas me contaram, em sussurros fracos, que o chão da velha casa na qual o pai de meu pai morreu fora manchado com seu próprio sangue, derramado por sua própria mão em loucura enfurecida. Pressionei meus ouvidos com os dedos, mas elas gritaram dentro da minha cabeça até o quarto ressoar com isto: que, na geração anterior a dele, a loucura estava adormecida, mas que seu avô tinha vivido por anos com as mãos acorrentadas ao solo, para impedi-lo de cortar-se em pedaços. Eu sabia que elas falavam a verdade – eu bem sabia disso. Eu havia descoberto há anos, apesar de tentarem esconder isso de mim. Mas... arrá! Eu era muito esperto para eles, mesmo louco como eles me julgavam ser. “Finalmente, ela tomou conta de mim e eu me perguntei como pude temê-la. Poderia percorrer o mundo agora e rir e gritar com o melhor deles. Eu sabia que era louco, mas eles nem suspeitavam. Como eu costumava me abraçar com deleite quando pensava na bela peça que estava lhes pregando em razão de outrora ficarem apontando para mim e me olhando de soslaio, quando eu não era louco, mas apenas temia que um dia me tornasse um! E como eu costumava rir de alegria quando estava sozinho e pensava como guardei bem meu segredo e o quão rápido meus gentis amigos teriam me abandonado se soubessem da verdade. Eu poderia ter gritado com êxtase quando jantei a sós com algum bom camarada barulhento, pensando no quão pálido ele ficaria e veloz ele correria, se soubesse que o amigo querido, sentado perto dele afiando uma faca luminosa e brilhante, era um louco com todo o poder, e um tanto de vontade, de cravá-la no seu coração. Ah! Era uma vida divertida! “Riquezas tornaram-se minhas, uma fortuna afluiu sobre mim e eu me deliciava com prazeres intensificados mil vezes mais pela consciência do meu segredo bem guardado. Herdei uma propriedade. A lei – a própria lei de vista aguçada – tinha sido lograda e entregara milhares de libras disputadas por outros nas mãos de um louco. Onde estava o juízo dos homens perspicazes e de mentes sadias? Onde estava a destreza dos advogados, ávidos por descobrir uma falha? A astúcia do louco tinha enganado a todos. “Eu tinha dinheiro. Como eu era cortejado! Eu gastei com abundância. Como eu era elogiado! Como aqueles três presunçosos e arrogantes irmãos se humilhavam na minha frente! O velho pai de cabeça branca também – tamanha consideração – tamanho respeito – tamanha amizade devotada – ele me idolatrava! O velho tinha uma filha, e os jovens, uma irmã; e todos os cinco eram pobres. Eu era rico e, quando casei com a moça, vi um sorriso de triunfo aparecer de leve nos rostos dos parentes necessitados dela, enquanto eles pensavam no seu esquema bem planejado e no seu belo prêmio. Era eu quem devia estar sorrindo. Sorrir! Rir às gargalhadas, arrancar os cabelos e rolar no chão com guinchos de divertimento. Eles nem desconfiavam que a tinham casado com um louco. “Espere! Se soubessem disso, será que eles a teriam salvado? A felicidade de uma irmã contra o ouro do seu marido. A mais leve pluma eu sopro para o ar, em oposição à corrente vistosa que adorna meu corpo. “Em uma coisa fui enganado, mesmo com toda a minha astúcia. Se eu não tivesse enlouquecido – pois apesar de nós loucos sermos inteligentes o bastante, nós ficamos confusos às vezes – eu deveria saber que a moça preferiria ter sido colocada dura e gelada num simples caixão de chumbo, a ser levada como noiva invejada para minha rica e resplandecente casa. Eu deveria saber que o seu coração era do rapaz de olhos escuros, cujo nome uma vez eu a ouvi murmurar em seu sono perturbado, e que ela tinha sido sacrificada para mim, a fim de aliviar a pobreza do velho de cabeça branca e dos irmãos presunçosos.
“Eu não lembro de formas e rostos agora, mas eu sei que a moça era bonita. Eu sei que ela era, porque nas noites claras de luar, quando acordo de modo brusco do meu sono e tudo está quieto à minha volta, eu vejo, em pé, silencioso e imóvel, em um dos cantos desta cela, um frágil e debilitado vulto, de cabelo preto e comprido que se derrama pelas suas costas e se movimenta mesmo quando não está ventando, e olhos que me encaram e nunca piscam, nem fecham. Silêncio! O sangue esfria no meu coração enquanto escrevo – aquela forma é dela; o rosto está muito pálido, e os olhos têm um brilho vítreo, mas eu os conheço bem. Aquele vulto nunca se move, nunca franze a testa, nem mexe os lábios como outros que ocupam este lugar algumas vezes fazem; mas ela é muito mais apavorante pra mim, até mais do que os espíritos que me provocavam há tantos anos – ela me vem fresca do túmulo e é tão cadavérica. “Por quase um ano, eu vi aquele rosto ficar cada vez mais pálido; por quase um ano, eu vi as lágrimas vertendo, furtivas, pelas bochechas tristes, e nunca soube a causa. Contudo, finalmente descobri. Eles não poderiam me esconder aquilo por muito tempo. Ela nunca tinha gostado de mim; eu nunca pensei que gostasse; ela desprezava minha fortuna e odiava o esplendor em que eu vivia, mas eu não contava com isto: ela amava outro. Isso eu nunca tinha pensado. Estranhos sentimentos tomaram conta de mim, e o pensamento, invadindo-me à força por algum estranho poder secreto, rodopiava e rodopiava no meu cérebro. Eu não a odiava, apesar de odiar o rapaz por quem ela não parava de chorar. Eu tinha pena – sim, eu tinha pena – da vida deprimente à qual seus parentes frios e egoístas a tinham condenado. Eu sabia que ela não poderia viver por muito tempo, mas o pensamento de que, antes de sua morte, ela poderia dar à luz algum ser infeliz, destinado a transmitir loucura à sua prole, fez eu me decidir. Resolvi matá-la. “Por muitas semanas, pensei em veneno, e depois em afogamento, e depois em incêndio. Uma bela visão: a casa imponente em chamas e a esposa do louco ardendo lentamente, virando cinzas. Pense também na graça de uma boa recompensa e em algum homem são balançando ao vento por um ato que nunca cometeu, e tudo isso por meio da astúcia de um louco. Eu pensei inúmeras vezes sobre isso, mas, por fim, desisti. Ah! O prazer de afiar a navalha dia após dia, sentindo o fio cortante e pensando no talho que a lâmina fina e reluzente faria com um só golpe. “Enfim, os velhos espíritos, que antes estiveram comigo por tantas vezes, sussurraram no meu ouvido que a hora chegara e jogaram a navalha aberta na minha mão. Eu agarrei firme a navalha, levantei suavemente da cama e me inclinei sobre minha esposa adormecida. Seu rosto estava enterrado nas mãos. Eu as retirei suavemente, e elas caíram indiferentes no peito. Ela estivera chorando, pois os rastros das lágrimas ainda estavam molhados nas bochechas. Seu rosto estava calmo e sereno, e, enquanto eu o observava, um sorriso tranquilo iluminou suas feições pálidas. Eu pousei minha mão suavemente no seu ombro. Ela se sobressaltou – era apenas um sonho passageiro. Eu me inclinei para a frente mais uma vez. Ela gritou e acordou. “Um movimento da minha mão e ela nunca mais emitiria um grito ou som. Mas eu fiquei assustado e recuei. Seus olhos estavam fixos nos meus. Não sei como foi, mas eles me intimidavam e me davam medo, e eu fraquejei sob aquele olhar. Ela levantou da cama, ainda me encarando firme e fixamente. Eu tremi; a navalha estava na minha mão, mas eu não conseguia me mexer. Ela foi em direção à porta. Quando chegou perto da porta, ela se virou e desviou o olhar do meu rosto. O feitiço estava quebrado. Eu saltei à frente e a agarrei pelo braço. Emitindo guinchos em cima de guinchos, ela sucumbiu e foi ao chão. “Naquele momento, eu poderia tê-la matado sem esforço, mas a casa fora alarmada. Eu ouvi o ruído de passos na escada. Recoloquei a navalha na gaveta de costume, abri a porta e gritei por auxílio. “Eles vieram e a levantaram, colocando-a na cama. Ela ficou ali, desmaiada por horas, e quando a vida, o olhar e a fala retornaram, seu juízo a tinha abandonado; e ela delirou, de modo selvagem e furioso. “Médicos foram chamados – grandes homens que chegavam à minha porta em carruagens confortáveis, com belos cavalos e vistosos criados. Por semanas, eles ficaram à beira do seu leito. Fizeram uma junta médica e trocaram ideias em voz baixa, muito solenes, em um outro quarto. Um deles, o mais inteligente e o mais célebre do grupo, conversou comigo à parte e pediu-me que me preparasse para o pior e falou (para mim, o louco) que minha esposa estava louca. Ele se parou próximo a mim, junto a uma janela aberta, seu olhar observando a minha expressão, sua mão no meu braço. Com um só empurrão, eu poderia tê-lo arremessado na rua lá embaixo. Teria sido um passatempo raro fazê-lo, mas o meu segredo estava em jogo, e eu o deixei ir. Poucos dias depois, eles me falaram que eu devia mantê-la sob algum tipo de contenção: eu deveria providenciar um enfermeiro para ela. Eu! Eu fui para o campo aberto, onde ninguém poderia me ouvir, e ri até a atmosfera ressoar com os meus gritos. “Ela morreu no dia seguinte. O velho de cabeça branca juntou-se a ela na morte, e os irmãos arrogantes derramaram uma única lágrima sobre o cadáver insensível da irmã, aquela a cujos sofrimentos eles tinham assistido, no decorrer de sua vida, com músculos de ferro. Tudo isso era alimento para minha secreta alegria, e eu ri, por trás do lenço branco que eu segurava na frente do rosto, na carruagem, enquanto nós íamos para casa, até as lágrimas surgirem nos meus olhos. “Mas, apesar de ter realizado o meu objetivo e de tê-la matado, eu estava inquieto e transtornado, e senti que, em breve, meu segredo deveria ser revelado. Eu não conseguiria esconder a alegria selvagem e a felicidade que ferviam dentro de mim e que, quando estava sozinho em casa, me faziam dar pulos e bater palmas e dançar e rodopiar e rugir em voz alta. Quando eu saía e via as multidões de pessoas ocupadas, andando apressadas pelas ruas; ou ia ao teatro e ouvia os sons das notas musicais, e observava as pessoas dançando, eu sentia tamanha exultação que poderia ter avançado entre eles; e eu os cortaria em pedaços, desmembrando-os, braço por braço, perna por perna, e eu teria uivado em êxtase. Mas eu rilhava meus dentes e fincava os pés no chão e enterrava minhas unhas afiadas nas palmas das mãos. Eu me controlei, e ninguém sabia, ainda, que eu era louco. “Eu me lembro – apesar de ser uma das últimas coisas de que consigo lembrar (por ora, eu confundo a realidade com os meus sonhos e, tendo tanto o que fazer, e sendo continuamente apressado aqui, fico sem tempo para separar uma coisa da outra, porque tem alguma estranha confusão na qual uma e outra ficam envolvidas) – lembro de como eu, enfim, trouxe o assunto à tona. Rá, rá, rá! Acho que eu vejo os seus olhares assustados agora e sinto a desenvoltura com a qual eu os atirei para longe de mim e arremessei o meu punho fechado bem no meio das suas caras brancas e então voei como o vento e os deixei berrando e gritando, lá atrás. A força de um gigante toma conta de mim quando penso nisso. Eis aí – vejam como esta barra de ferro se dobra com a fúria da minha torção. Eu podia quebrar esta barra de ferro como se fosse um graveto, mas tem corredores compridos aqui, com muitas portas – acho que eu não ia conseguir encontrar a saída com tantas portas e, mesmo se encontrasse, eu sei que tem portões de ferro lá embaixo, que eles mantêm trancados e travados com barras de ferro. Eles sabem o louco inteligente que eu tenho sido e estão orgulhosos de me terem aqui, só para se exibirem. “Deixem-me ver: sim, eu fui descoberto. Era tarde da noite quando cheguei em casa e encontrei o mais orgulhoso dos três irmãos orgulhosos esperando por mim – negócios urgentes, foi o que ele disse; disso eu me recordo bem. Eu odiava aquele homem com todo o ódio de um louco. Muitas e muitas vezes, os meus dedos ansiaram por fazê-lo em pedaços. Me avisaram que ele estava me esperando. Corri prontamente para o andar superior. Ele queria conversar comigo. Eu dispensei os criados. Era tarde, e nós ficamos a sós – pela primeira vez. “Mantive meu olhar cuidadosamente desviado do olhar dele a princípio, pois eu sabia que ele sequer imaginava – e eu me senti envaidecido de saber que ele não sabia – que nos meus olhos cintilava como fogo a luz da loucura. Nos sentamos em silêncio por alguns minutos. Enfim, ele falou. Meu recente desregramento e meus estranhos comentários, feitos tão cedo após a morte de sua irmã, eram um insulto à sua memória. Fazendo a associação entre muitas circunstâncias que, a princípio, haviam escapado de sua observação, ele concluiu que eu não a havia tratado bem. Ele desejava saber se estava certo em inferir que eu pretendia manchar a memória de sua irmã e desrespeitar sua família. Era esperado dele, em razão do uniforme que vestia, exigir essa explicação. “Esse homem tinha um cargo no exército – um cargo comprado com o meu dinheiro e com o sofrimento de sua irmã! Esse era o homem que tinha sido elemento-chave no plano para me enganar e se apoderar de minha fortuna. Esse era o homem que tinha sido o principal instrumento em forçar sua irmã a se casar comigo, sabendo muito bem que o coração dela pertencia àquele rapaz choramingão. Esperava uma explicação em razão do seu uniforme! A libré da degradação! Eu virei o olhar na direção dele, não pude evitar, mas não disse uma palavra. “Percebi uma mudança súbita na sua postura sob meu olhar fixo. Ele era um homem corajoso, mas empalideceu e foi para trás na cadeira. Arrastei a minha para mais perto dele e, enquanto ria – eu estava muito feliz naquela hora –, eu o vi estremecer. Senti a loucura crescendo dentro de mim. Ele estava com medo de mim. “– Você gostava muito de sua irmã quando ela era viva – eu disse. – Muito! “Ele olhou preocupado ao seu redor, e eu vi sua mão agarrando o encosto da cadeira, mas ele não disse nada. “– Seu canalha – eu disse –, eu desmascarei você, eu descobri seus planos diabólicos contra mim, eu sei que o coração dela estava ligado a outro antes de você obrigá-la a se casar comigo. Eu sei! Eu sei! “Ele pulou de repente de sua cadeira, sacudindo-a no ar, e me pediu que recuasse; porque eu tinha tratado de me aproximar dele cada vez mais enquanto ia falando. “Eu mais gritava do que falava, pois sentia emoções tumultuadas passando em turbilhão pelas minhas veias, e os velhos espíritos sussurrando e me incitando a arrancar o coração dele fora. “– Dane-se você – eu disse, me levantando e avançando sobre ele – eu matei a sua irmã. Eu sou louco. Eu vou acabar com você. Sangue, sangue! Quero sangue! “De um golpe só, atirei para o lado a cadeira que ele jogou em mim, movido pelo terror, e me atraquei nele; e, com um encontrão violento, rolamos os dois no chão. “Foi uma bela luta aquela, pois ele era um homem alto e forte, brigando por sua vida, e eu, um louco poderoso, sedento por destruí-lo. Eu sabia que nenhuma força poderia se comparar à minha e eu estava certo. Certo de novo, apesar de louco! Os golpes dele foram enfraquecendo. Eu me ajoelhei sobre seu peito e apertei firme seu pescoço musculoso com as duas mãos. Seu rosto ficou roxo, seus olhos estavam saltando da cabeça, e, com a língua de fora, ele parecia estar zombando de mim. Apertei mais forte. “De repente, a porta se abriu com um tremendo barulho, e uma multidão entrou correndo, gritando uns para os outros para que segurassem o louco. “Meu segredo estava exposto, e minha única luta agora era para que me deixassem livre. Consegui ficar de pé antes que pusessem as mãos em mim, me atirei entre os meus agressores e abri caminho com o meu braço forte, como se estivesse empunhando uma machadinha, e derrubei-os diante de mim. Consegui alcançar a porta, escorreguei corrimão abaixo e, num instante, estava na rua. “Reto e rápido eu corri, e ninguém se atreveu a me deter. Ouvi o barulho de passos atrás de mim e redobrei a velocidade. O barulho foi se desvanecendo na distância e, por fim, evaporou-se por completo. Mas eu continuei correndo e saltando, por pântano e riacho, sobre cercas e muros, com uma gritaria selvagem que era imitada por estranhas criaturas que foram se juntando em bando ao meu redor, intensificando a barulheira até que ela perfurasse o próprio ar. Alcei voo nos braços de demônios que se deixavam levar pelo vento e pelo caminho iam devastando cercas vivas e taludes e que me faziam girar e girar com um zunido e com uma velocidade que fez minha cabeça flutuar, até que, por fim, arremessaramme para longe deles com um golpe violento e eu desabei pesadamente na terra. Quando acordei, estava aqui – aqui nesta cela cinzenta, onde a luz do dia raramente aparece, e a lua, furtiva, penetra em raios que apenas servem para mostrar as sombras escuras que me cercam e aquele vulto silencioso no seu canto de sempre. Quando me deito e não consigo dormir, às vezes escuto estranhos guinchos e gritos de partes distantes deste vasto lugar. O que são, eu não sei, mas eles não vêm daquela figura pálida, nem ela se importa com eles. Porque, desde as primeiras sombras do crepúsculo até a primeira luz da manhã, ela fica parada, imóvel, sempre no mesmo lugar, escutando a música da minha corrente de ferro e assistindo às minhas cambalhotas na minha cama de palha.”
A HISTÓRIA DO CAIXEIRO-VIAJANTE
um fim de tarde, perto das cinco horas, assim que começou a escurecer, um homem num cabriolé poderia ter sido visto, instigando seu cavalo cansado, na estrada que passa para o outro lado de Malborough Downs, na direção de Bristol. Digo que ele poderia ter sido visto, e não tenho dúvidas de que teria sido visto se, por acaso, alguém que não fosse cego estivesse passando por aquele caminho. Mas o tempo estava tão ruim, e a noite tão gelada e úmida, que não havia nada nem ninguém lá fora, só a água; e assim o viajante chacoalhava no meio da estrada deserta e bastante lúgubre. Se algum caixeiro-viajante, naquele dia, pudesse ter avistado a pequena e frágil espécie de cabriolé cor de barro, com rodas vermelhas e uma veloz égua baia rabugenta e geniosa, que parecia uma cruza de cavalo de açougueiro com pônei barato do correio, ele teria reconhecido na hora que esse viajante só podia ser Tom Smart, da grande firma de Bilson & Slum, rua Cateaton, no centro financeiro de Londres. Contudo, como não havia caixeiro-viajante para ver aquilo, ninguém ficou sabendo; então, Tom Smart no seu cabriolé cor de barro e rodas vermelhas e a égua rabugenta de trote rápido seguiam juntos, mantendo o segredo entre eles. E ninguém ficou sabendo nada daquilo. “Há muitos lugares, mesmo neste mundo sombrio, mais prazerosos do que Malborough Downs quando venta forte; e se você juntar um anoitecer melancólico de inverno, uma estrada lamacenta e molhada, tudo debaixo de fortes pancadas de chuva, e experimentar o efeito disso na própria pele, você terá ideia de toda a força dessa observação. “O vento não soprava na estrada nem contra nem a favor, apesar de isso já ser incômodo suficiente, mas cruzava a estrada, forçando a chuva a inclinar-se como as linhas que se usavam nos cadernos de caligrafia na escola para forçar os meninos a ter uma boa escrita. Por um instante, o vento acalmava e o viajante começava a se iludir e a acreditar que, exausto de sua fúria anterior, o vento tivesse parado para descansar, e então: vuuuu! o viajante escutava o vento uivando e assoviando ao longe, passando pelo topo das montanhas, varrendo as planícies, concentrando o ruído e a força à medida que se aproximava, até que, com uma rajada forte, se chocasse contra o cavalo e o homem, lançando a chuva penetrante em seus ouvidos com um sopro úmido e gelado que chegava até os seus ossos. Ao passar por eles, o vento corria para longe, bem longe, com um estrondoso rugido, como se zombasse das suas fraquezas e se vangloriasse de sua força e poder. “A égua baia patinava no lodo e na água com as orelhas murchas. De vez em quando, mexia a cabeça de um lado para outro como se quisesse expressar seu desgosto por esse rude comportamento da natureza, mas mantinha um bom trote apesar de tudo, até que uma rajada de vento mais furiosa do que as outras que investiam contra eles a fez parar de uma forma inesperada e fincar as quatro patas bem firmes no chão, para evitar de ser carregada pelos ares. Foi muita sorte ela ter feito isso, pois, se tivesse sido carregada pelos ares, ela era tão leve, o cabriolé tão leve e Tom Smart também tão leve que, com toda a certeza, todos eles teriam sido levados de roldão até que alcançassem os confins da terra ou até que o vento cessasse. De qualquer modo, muito provavelmente nem a égua rabugenta, nem o cabriolé cor de barro com rodas vermelhas e nem Tom Smart nunca mais estariam aptos a trabalhar de novo. “– Bosta! Que se danem os meus suspensórios e as minhas costeletas – diz Tom Smart (Tom algumas vezes tinha uma desagradável tendência a praguejar). – Que se danem os meus suspensórios e as minhas costeletas – diz Tom. – Se ainda não tá bom que chegue, vento, pode me derrubar! “É provável que você me pergunte por que Tom Smart expressou esse desejo de ser submetido ao mesmo processo outra vez, se ele já tinha sentido a força do vento antes. Não sei. Tudo que sei é o que Tom Smart disse, ou pelo menos era o que ele contava para meu tio que havia dito, o que vem a ser exatamente a mesma coisa. “– Pode soprar forte – diz Tom Smart; e a égua relinchava como se tivesse precisamente a mesma opinião. “– Ânimo, minha velha – disse Tom, dando batidinhas no pescoço da baia com a extremidade do chicote. – Não adianta continuar, com uma noite assim. Na primeira casa que aparecer, nós paramos; então, quanto mais rápido você for, mais cedo isso se acaba. Vamos lá, minha velha... calminha... calminha. “Se a égua rabugenta estava familiarizada o suficiente com as nuanças de voz de Tom Smart para compreender seus significados, ou se ela achou que sentiria mais frio ficando parada do que indo em frente, isso eu não sei dizer. Mas sei dizer que, tão logo Tom terminou de falar, ela pôs as orelhas em pé e seguiu em frente, tão rápido que fez o cabriolé cor de barro chacoalhar e até se podia imaginar que cada um dos raios vermelhos das rodas sairia voando pela relva de Malborough Downs; e até mesmo Tom, bom condutor como ele era, não pôde parar nem diminuir o galope da égua; até que ela parou do lado direito da estrada, por vontade própria, na frente de uma estalagem de beira de estrada, cerca de um quarto de milha depois da divisa de Downs. “Tom deu uma olhadela na parte superior da casa, enquanto jogava as rédeas para o cavalariço e enfiava o chicote na boleia. Era um lugar antigo e estranho: as paredes revestidas com aquelas tabuinhas de madeira, shingles, pareciam trazer embutidas em si as vigas aparentes da construção; cada janela tinha o seu próprio telhadinho de duas águas e todas se projetavam sobre o passeio; e uma porta muito baixa com um alpendre muito escuro e um par de degraus íngremes que desciam para dentro da casa, em vez do estilo moderno com meia dúzia de degraus que subissem para dentro da casa. Contudo, era um lugar de aspecto confortável, pois uma luz forte e convidativa na janela do bar espalhava um raio de luz brilhante que atravessava a estrada e até mesmo iluminava as sebes do outro lado; e havia uma luz cintilando, avermelhada, na janela do outro lado da casa, por um momento mal e mal discernível, e já no outro instante reluzindo muito forte através das cortinas fechadas, indicativo de um fogo intenso na lareira acesa lá dentro. Observando esses pequenos detalhes com olhos de viajante experiente, Tom apeou com toda a agilidade que lhe permitiram as pernas semicongeladas e entrou na casa. “Em menos de cinco minutos, Tom estava refestelado na sala em frente ao bar – a mesma sala onde ele havia imaginado a lareira brilhando – na frente de um prosaico e substancial fogo, feito com uma montanha de carvão, mais lenha suficiente para montar meia dúzia de groselheiras de bom porte: achas empilhadas até a metade da altura da lareira, estalando e crepitando com um som que, por si só, teria aquecido o coração de qualquer homem sensato. Aquilo era agradável, mas não era tudo, pois uma moça vestida com elegância, de olhos brilhantes e tornozelos perfeitos, estava colocando uma toalha branca e muito limpa na mesa; enquanto Tom sentava, posicionando-se de costas para a porta aberta e apoiando os pés (já de pantufas) no guarda-fogo, pôde apreciar uma encantadora perspectiva do bar refletida no espelho acima da lareira: viu bonitas fileiras de garrafas verdes e rótulos dourados junto a vidros de picles e de geleias, e ainda queijos e presuntos cozidos e cortes de carne bovina, tudo arrumado em prateleiras no mais tentador e delicioso arranjo. Bom, isso também era agradável; mas, igual, não era tudo, pois no bar, jantando na mesinha mais simpática de todas, que fora puxada para perto do melhor fogo de todos, estava uma viúva rechonchuda aparentando 48 anos ou por aí, com um rosto tão agradável quanto o bar e que evidentemente era a proprietária da casa e com certeza ditava todas as regras naquela encantadora propriedade. Havia apenas um senão na beleza de todo esse cenário: um homem alto – muito alto – de casaco marrom (com botões brilhantes de cabelo humano trançado e cobre), suíças pretas, cabelo preto e ondulado, sentado à mesa da viúva, jantando com ela; e não era preciso muita perspicácia para descobrir que ele estava, de modo muito justo, encarregando-se de persuadi-la a não permanecer viúva por mais tempo e conferir a ele o privilégio de tomar assento naquele bar para e durante o resto do tempo de sua vida natural. “Tom Smart não tinha, de modo algum, um temperamento irritadiço ou invejoso, mas, fosse como fosse, o homem alto de casaco marrom com botões brilhantes de cabelo trançado despertava nele o pouco de rancor que havia no seu íntimo e fazia com que ele se sentisse indignado, especialmente porque podia observar, em alguns momentos, do seu lugar diante do espelho, umas certas intimidades afetuosas entre o homem alto e a viúva, indicando com clareza que a viúva o tinha em alta conta. Tom gostava de ponche quente – posso me arriscar a dizer que ele gostava muito de ponche quente – e depois de certificar-se que a égua rabugenta estava bem-alimentada e bem-abrigada, e depois de ter comido até o último pedacinho o saboroso prato quente que a viúva arranjara para ele com as próprias mãos, ele pediu um copo de ponche, só para experimentar. Agora, se havia uma coisa entre todas as muitas variedades de prendas domésticas que a viúva sabia fazer melhor do que as outras, isso era o ponche; e o primeiro copo estava bem ao gosto de Tom Smart: tão bemfeito que ele pediu uma segunda dose logo em seguida. Ponche quente é uma coisa prazerosa, cavalheiros – uma coisa prazerosa ao extremo sob quaisquer circunstâncias – mas, naquela sala antiga e acolhedora, diante de um fogo crepitante, com o vento soprando lá fora fazendo ranger vezes sem fim cada tábua da velha casa, Tom Smart achava o ponche quente simplesmente perfeito. Ele pediu outro copo e depois outro – não estou bem certo se não pediu mais um depois – mas, quanto mais bebia o ponche, mais ele pensava no homem alto. “‘Raios que o partam, seu descarado!’ pensou Tom consigo mesmo. ‘O que ele veio fazer aqui neste bar aconchegante? E ainda por cima é um raio de feio, esse canalha!’ pensou Tom. ‘Se a viúva tivesse bom gosto, é certo que podia escolher um sujeito melhorzinho do que esse. ’ Aqui, os olhos de Tom foram do espelho acima da lareira para o copo em cima da mesa; e, como ele percebesse que estava ficando sentimental, esvaziou o quarto copo de ponche e pediu o quinto. “Tom Smart, cavalheiros, tinha sido sempre muito ligado ao atendimento ao público. Sua ambição, por muito tempo, tinha sido trabalhar num bar de sua propriedade, vestindo um casaco verde, calças que vão até logo abaixo dos joelhos e botas de cano alto. Ele tinha ideias grandiosas de presidir jantares festivos e com frequência pensava em como poderia administrar um espaço de sua propriedade no departamento de conversas, e que exemplo importante ele poderia dar aos clientes no departamento de bebidas. Todas essas coisas passavam-se com rapidez pela mente de Tom enquanto ele bebia o ponche quente perto do fogo crepitante, e ele se sentiu, com muita justiça e com muita propriedade, indignado porque o homem alto estava na bela posição de tocar um estabelecimento de tal excelência, enquanto ele, Tom Smart, estava tão longe disso como sempre estivera. Então, depois de refletir (enquanto tomava seus dois últimos copos de ponche) se não tinha todo o direito de puxar uma briga com o homem alto por ele ter tramado para cair nas boas graças da viúva rechonchuda, Tom Smart por fim chegou a uma conclusão satisfatória: ele era um sujeito maltratado e perseguido pela sorte, e era melhor ir para a cama. “Enquanto subiam uma larga e antiquíssima escadaria, a moça vistosa ia à frente de Tom, cobrindo a chama da vela do castiçal com a mão para protegê-la das correntes de ar que, num lugar tão antigo e tão cheio de irregularidades como aquele, podiam ter encontrado espaço de sobra para se divertir sem apagar a vela, mas que, assim mesmo, apagaram a chama, permitindo aos inimigos de Tom uma oportunidade de afirmar que era ele, e não o vento, que apagara a vela e que, enquanto ele fingia soprar para acendê-la de novo, estava de fato beijando a moça. Seja como for, conseguiram uma luz nova, e Tom foi levado por um labirinto de quartos e por um labirinto de corredores até os aposentos que haviam sido preparados para ele, onde a moça desejou-lhe uma boa noite e deixou-o sozinho. “Era um quarto bom e espaçoso, com grandes armários e uma cama que teria servido para um internato inteiro, isso para não falar dos dois armários de carvalho, só de prateleiras, que teriam acomodado a bagagem de um pequeno exército; mas o que mais instigou a imaginação de Tom foi uma cadeira esquisita, de encosto alto, de aparência sinistra, entalhada de maneira absolutamente fantástica, estofada com um adamascado de estampa floral – os pés arredondados estavam cobertos com todo o capricho com um pano vermelho, bem amarrado, como se a cadeira sofresse de gota. No caso de qualquer outra cadeira esquisita, Tom apenas teria pensado que era uma cadeira esquisita, e isso teria dado por encerrado o assunto; mas havia alguma coisa naquela cadeira em particular, e no entanto ele não sabia dizer o que era; tão estranha e tão diferente de qualquer outro móvel que ele já tinha visto, parecia fasciná-lo. Ele se sentou em frente à lareira e fixou o olhar na cadeira antiga por meia hora. – Que se danasse a cadeira! aquela coisa tão velha e tão estranha que ele não conseguia desgrudar os olhos dela. “– Bem – disse Tom, enquanto ia tirando a roupa devagar e olhando fixo o tempo todo para a cadeira antiga, que ficava com o seu aspecto misterioso ao lado da cama, – nunca vi um troço tão esdrúxulo em toda a minha vida. Muito estranho – disse Tom, que tinha ficado um tanto quanto sábio depois do ponche quente. – Muito estranho. – Tom meneou a cabeça com ar de profunda sabedoria e olhou para a cadeira mais uma vez. Mas, como não sabia o que pensar daquilo, foi para a cama, esquentou-se debaixo das cobertas e pegou no sono. “Uma meia hora depois, Tom acordou sobressaltado de um sonho confuso com homens altos e copos de ponche, e o primeiro objeto que se apresentou à sua imaginação desperta foi a cadeira esquisita. “– Não vou olhar mais – disse Tom para si mesmo, e apertou as pálpebras com força e tentou convencer-se de que ia dormir de novo. Não adiantou: dançavam diante de seus olhos nada além de cadeiras esquisitas, jogando as pernas para cima, pulando carneirinho umas com as outras e fazendo todo tipo de malabarismos. “– É melhor eu ver uma cadeira de verdade do que ficar vendo dois ou três conjuntos completos de cadeiras falsas – disse Tom, botando a cabeça para fora das cobertas. Lá estava ela, muito nítida à luz da lareira, provocativa como sempre. “Tom olhou para a cadeira e, de repente, enquanto olhava para ela, a mais extraordinária mudança parecia estar acontecendo. O entalhe do encosto aos poucos assumiu as características e a expressão de um rosto humano velho e murcho de tão enrugado; o adamascado do assento transformou-se num fraque antigo, de longas abas; os pés redondos da cadeira cresceram e se transformaram em dois pés calçados em chinelas vermelhas; e a velha cadeira agora parecia um velho muito feio, do século anterior, com as mãos postas nos quadris. Tom sentou-se na cama e esfregou os olhos para dissipar a ilusão. Nada. A cadeira era um cavalheiro muito velho e muito feio; e, ainda mais, ele estava piscando para Tom Smart. “Tom era por natureza um sujeitinho imprudente e desleixado e, afinal de contas, tinha bebido cinco copos de ponche quente naquele negócio; então, embora no início estivesse sobressaltado, começou depois a sentir-se indignado quando viu o velhote piscando e olhando enviesado para ele, de um jeito desavergonhado. Por fim, ele resolveu que não iria tolerar aquilo; e, como o rosto enrugado continuasse piscando rápido e sem parar, Tom disse, numa voz muito irritada: “– Por que diabos você tá piscando pra mim? “– Porque eu gosto, Tom Smart – disse a cadeira; ou o velhote, seja lá como você quiser chamá-lo. No entanto, ele parou de piscar quando Tom falou e começou a sorrir como um macaco aposentado. “– Como é que você sabe o meu nome, seu cara de quebra-nozes? – perguntou Tom Smart, muito abalado, embora fingisse estar conduzindo muito bem a situação. “– Ora, ora, Tom – disse o ancião –, esse não é o modo de dirigir-se a um sólido mogno espanhol. Que droga! Mesmo que eu fosse envernizado! Você não pode me tratar com essa falta de respeito. – Quando o velho cavalheiro disse isso, ele parecia tão ameaçador que Tom começou a ficar com medo. “– Eu não tive a intenção de tratá-lo com desrespeito, senhor – disse Tom, a voz agora muito mais humilde do que quando havia começado a falar. “– Bem, bem – disse o velhinho –, talvez não. Hmm, pode ser. Tom... “– Senhor... “– Eu sei tudo sobre você, Tom; tudo. Você é muito pobre, Tom. “– É verdade, eu sou pobre – disse Tom Smart. – Mas como é que o senhor sabe disso? “– Não interessa – disse o velho cavalheiro –; você também gosta muito de ponche, Tom. “Tom Smart já ia declarar que não tinha provado nem uma única gota desde o seu último aniversário, mas, quando seu olhar encontrou o olhar do velho cavalheiro, este parecia tão bem informado que Tom corou e ficou em silêncio. “– Tom – disse o ancião –, a viúva é uma mulher distinta, uma mulher notável e muito distinta; hein, Tom? – Neste ponto da conversa, o velhote revirou os olhos, ergueu uma das pernas pequenas e gastas e pareceu tão desagradavelmente carinhoso que Tom ficou bem aborrecido com o comportamento leviano do velho; ainda mais na idade dele! “– Eu sou o guardião dela, Tom – disse o velho cavalheiro. “– É mesmo? – perguntou Tom Smart. “– Eu conheci a mãe dela, Tom – disse o velhinho –, e a avó também. Ela gostava muito de mim... fez-me este fraque, Tom.
“– Ela fez? – disse Tom Smart. “– E estes sapatos – disse o velhinho, erguendo uma das chinelas vermelhas –, mas não mencione isso, Tom. Eu não gostaria que soubessem que ela era tão apegada a mim. Isso pode causar algum constrangimento na família. – Quando o velho patife disse isso, ele parecia muito, muito insolente, tanto que Tom Smart, conforme declarou mais tarde, teve vontade de sentar em cima dele, sem pena. “– No meu tempo, fui muito apreciado pelas mulheres, Tom – disse o velho libertino e debochado –; centenas de mulheres distintas sentaram no meu colo por horas e mais horas. O que você pensa disso, hein, seu patife? – O ancião ia continuar contando outras proezas de sua juventude quando foi acometido de um violento ataque de rangidos e não pôde prosseguir. “Bem feito para você, seu caquético”, foi o que pensou Tom Smart, mas não disse nada. “– Ah! – disse o velhinho. – Eu estou muito preocupado com isso agora. Estou ficando velho, Tom, e já perdi quase todas as minhas travessas. Já passei por uma operação também: uma pecinha que puseram nas minhas costas; e achei aquilo uma grande provação, Tom. “– Eu posso imaginar, senhor – disse Tom Smart. “– Entretanto – disse o ancião –, essa não é a questão, Tom! Eu quero que você se case com a viúva. “– Eu, senhor ? – perguntou Tom. “– Você – respondeu o velho cavalheiro. “– Que Deus abençoe esses seus veneráveis cachos – disse Tom (ele ainda tinha alguns tufos dispersos de crina) –, que Deus abençoe esses seus veneráveis cachos, mas ela não ia aceitar o meu pedido de casamento. – E Tom suspirou, sem querer, assim que se lembrou do bar. “– Não? – questionou o ancião com firmeza. “– Não, não – disse Tom –, ela já tem um pretendente. Um homem alto... abominavelmente alto... de suíças pretas. “– Tom – disse o ancião –, ela nunca vai aceitar o homem alto. “– Não vai aceitar? – perguntou Tom. – Se o senhor estivesse no bar, senhor, o senhor ia contar outra história. “– Ora, ora – disse o ancião –, eu sei tudo sobre essas coisas. “– Sobre que tipo de coisa? – indagou Tom. “– Sobre beijar atrás das portas e todo esse tipo de coisas, Tom – respondeu o velho cavalheiro. E aqui ele deu um outro olhar desavergonhado, que fez Tom ficar muito irado, porque, como os senhores sabem, cavalheiros, escutar um senhor idoso, que devia ter mais bom-senso, falando sobre essas coisas é muito desagradável; nada menos que muito desagradável. “– Eu sei tudo sobre essas coisas, Tom – disse o ancião. – Eu vi isso tudo sendo feito com muita frequência no meu tempo, Tom, entre mais pessoas do que eu gostaria de mencionar a você, mas aquilo tudo não resultava em nada no fim das contas. “– O senhor deve ter visto uma coisa muito esquisita – disse Tom, com um olhar inquisitivo. “– Você pode até dizer isso, Tom – respondeu o velho, com uma piscadela diferente, mais complicada. – Eu sou o último da minha família, Tom – disse o ancião com um suspiro melancólico. “– Era grande, a sua família? – perguntou Tom Smart. “– Nós éramos doze, Tom – disse o ancião –, sujeitos de costas eretas, bonitos e elegantes que dava gosto de ver. Nada parecido com essas aberrações modernas... nós todos tínhamos braços e éramos polidos e, embora eu esteja falando o que não devo, todos nós éramos capazes de fazer bem ao seu coração, só de nos olhar. “– O que aconteceu com os outros, senhor? – perguntou Tom Smart. “O ancião levou o cotovelo ao olho e respondeu: “– Foram-se, Tom, foram-se. Nós aceitávamos trabalho pesado, Tom, e os outros não tinham o meu físico. Tiveram reumatismo nas pernas e nos braços e foram parar nas cozinhas e nos hospitais, e um deles, por longo tempo de serviço e por maus-tratos, perdeu o juízo. Ficou tão louco que precisou ser queimado. Uma coisa chocante, Tom. “– Terrível! – exclamou Tom Smart. “O velhinho fez uma pausa por alguns minutos, aparentemente lutando contra a emoção, e então disse: “– Entretanto, Tom, eu estou desviando do assunto. Esse homem alto, Tom, é um aventureiro desonesto. No momento em que ele se casasse com a viúva, ia vender todos os móveis e ia fugir. Qual seria a consequência? Ela ficaria abandonada e reduzida a ruínas, e eu, de tanto passar frio em uma loja de móveis de segunda mão, pegaria um resfriado que me levaria à morte. “– Sim, mas... “– Não me interrompa – disse o velho cavalheiro. – Sobre você, Tom, eu tenho uma opinião muito diferente. Eu bem sei que, se você ficasse responsável por um estabelecimento aberto ao público, você nunca o abandonaria enquanto houvesse alguma coisa para se beber dentro de suas quatro paredes. “– Eu lhe sou muito grato por esse elogio, senhor – disse Tom Smart. “– Por isso – retomou o ancião num tom ditatorial –, você deve se casar com ela, e ele não. “– O que vai impedir isso? – perguntou Tom Smart, ansioso por uma resposta. “– A revelação – respondeu o velho cavalheiro – de que ele já é casado. “– Como posso provar isso? – perguntou Tom, tirando metade do corpo para fora da cama. “O ancião abriu o braço e, depois de apontar para um dos guardaroupas de carvalho, levou o braço imediatamente de volta à sua velha posição. “– Ele nem lembra – disse o velhinho – que no bolso direito de uma calça, naquele armário, ele deixou uma carta que pede que ele volte para sua esposa desconsolada, que ficou com os seus seis... preste atenção Tom... seis filhinhos, todos eles ainda bem pequenos. “Assim que o ancião pronunciou com solenidade essas palavras, suas feições foram se tornando cada vez menos distintas, e sua imagem, mais esfumaçada. A visão de Tom Smart ficou embaçada. O velhinho parecia ir se misturando aos poucos com a cadeira, o fraque adamascado transformando-se no estofado, as chinelas vermelhas encolhendo-se em saquinhos de tecido vermelho. A luz foi se apagando aos poucos, e Tom Smart jogou-se de novo em seu travesseiro e caiu no sono. “A manhã despertou Tom de um sono profundo, letárgico, no qual ele havia caído quando o velhinho desaparecera. Ele se sentou na cama e por alguns minutos se esforçou em vão para relembrar os acontecimentos da noite anterior. De repente, lembrou. Olhou para a cadeira; era um móvel fantástico e sinistro, com certeza, mas só uma notável, engenhosa e viva imaginação poderia ter descoberto qualquer semelhança entre a cadeira e o velho. “– Qual é a sua idade, velhote? – perguntou Tom. Ele era mais ousado à luz do dia… como a grande maioria dos homens. “A cadeira permaneceu imóvel e não falou nada. “– Manhã miserável – disse Tom. Nada. A cadeira não ia lhe dar conversa. “– Qual dos armários você me apontou? Você pode me dizer isso – disse Tom. Nem por um milagre, cavalheiros, a cadeira diria alguma palavra. “– Em todo caso, não é nada de mais abrir um armário – disse Tom, saindo da cama com um propósito. Foi até um dos armários. A chave estava na fechadura; ele girou a chave e abriu a porta. Havia uma calça ali. Ele colocou a mão dentro do bolso e tirou dali uma carta igual àquela que o ancião tinha descrito! “– Que coisa mais esquisita, isso – disse Tom Smart, primeiro olhando para a cadeira, e então para o armário, e depois para a carta, e então para a cadeira de novo. – Muito esquisito mesmo – disse Tom. Porém, como não havia mais nada a fazer ali, e para diminuir a esquisitice daquilo tudo, ele pensou que o melhor a fazer era vestir-se e resolver o negócio do homem alto de uma vez, para acabar com o seu próprio sofrimento. “Tom examinou os quartos por onde passou enquanto descia, com os olhos escrutinadores de um senhorio, pensando não ser impossível que, em breve, aqueles quartos e tudo dentro deles viessem a ser propriedade sua. O homem alto estava no bar pequeno e confortável, de pé, mãos atrás das costas, como se estivesse em casa. Sorriu de uma maneira despreocupada para Tom. Um observador casual poderia supor que ele fez isso somente para mostrar os seus dentes brancos, porém Tom Smart pensou que a certeza do triunfo estava passando pelos pensamentos do homem alto, se é que ele pensava. Tom riu na cara do homem e chamou a proprietária: “– Bom dia, madame – cumprimentou Tom Smart, fechando a porta da saleta tão logo a viúva entrou. “– Bom dia, senhor – disse a viúva. – O que o senhor deseja para o café da manhã? “Tom estava pensando em como abordar o assunto, então não respondeu. “–Temos um presunto muito bom – continuou a viúva – e uma carne de galinha fria, recheada com toicinho. Posso mandar servir, senhor? “Essas palavras despertaram Tom de suas reflexões. Sua admiração pela viúva crescia à medida que ela ia falando. Criatura zelosa! Provedora de grande conforto! “– Quem é o cavalheiro no bar, madame? – perguntou Tom. “– O nome dele é Jinkins, senhor – respondeu a viúva, ficando um pouco corada. “– É um homem alto – disse Tom. “– É um homem finíssimo, senhor – falou a viúva –, e um perfeito cavalheiro. “– Ah! – exclamou Tom. “– O senhor deseja mais alguma coisa? – perguntou a viúva, bastante intrigada com o jeito de Tom. “– Sem dúvida – disse Tom. – Minha cara senhora, pode me fazer a gentileza de sentar-se por um momento? “A viúva pareceu muito espantada, mas sentou-se, e Tom sentou-se também, ao lado dela. Eu não sei como isso aconteceu, cavalheiros – na verdade, meu tio costumava me contar que Tom Smart disse que ele também não sabia como isso aconteceu –, mas, de um jeito ou de outro, a palma da mão de Tom caiu no dorso da mão da viúva e lá permaneceu enquanto ele falava. “– Minha cara senhora – disse Tom Smart; ele sempre soube como ser amável –, minha cara, a senhora merece um marido muito bom; aliás, excelente; merece mesmo... “– Meu Deus, senhor! – disse a viúva, e isso era o melhor que podia dizer, já que a maneira de Tom começar a conversa foi bastante incomum, para não dizer surpreendente; levando-se em consideração o fato de ele nunca ter posto os olhos nela antes da noite anterior. – Meu Deus, senhor! “– Eu menosprezo bajulações, minha cara – disse Tom Smart. – A senhora merece um marido simplesmente admirável, e quem quer que ele seja, será um homem de muita sorte. – Enquanto Tom dizia isso, seu olhar passou, sem querer, do rosto da viúva para as comodidades em volta dele. “A viúva parecia mais intrigada do que nunca, e fez um esforço para levantar-se. Tom, de uma maneira gentil, apertou a mão dela, como se fosse para detê-la, e ela permaneceu sentada. As viúvas, cavalheiros, em geral não são tímidas, como meu tio costumava dizer. “– Tenho certeza que fico muito agradecida ao senhor, por esses seus elogios – disse a rechonchuda proprietária, segurando-se para não rir –, e se algum dia eu casar novamente... “– Se – disse Tom Smart, lançando um olhar enviesado, com muita astúcia, desde o canto direito do olho esquerdo. – Se... “– Bem – disse a viúva, agora rindo de verdade. – Quando eu casar, espero ter um marido tão bom quanto esse que o senhor descreve. “– Que não seja o Jinkins – disse Tom. “– Meu Deus, senhor! – exclamou a viúva. “– Ah, não me diga – disse Tom –; eu conheço o Jinkins. “– Tenho certeza que todos que conhecem o Jinkins não sabem nada de ruim dele – disse a viúva, empertigando-se ante o ar misterioso com o qual Tom tinha falado. “– Hmm! – fez Tom Smart. “A viúva começou a pensar que era chegada a hora de chorar, então pegou seu lenço e perguntou se Tom tinha a intenção de ofendê-la; se ele achava que era coisa de cavalheiro falar do caráter de outro cavalheiro pelas costas; se tinha algo a falar, por que ele não falava diretamente para o homem, como um homem, em vez de ficar assustando daquele jeito uma pobre e frágil mulher; e assim por diante. “– Eu vou dizer isso para ele em seguida – disse Tom –, só quero que a senhora me escute primeiro. “– O que é? – perguntou a viúva, examinando com atenção o semblante de Tom. “– A senhora vai ficar surpresa – disse Tom, colocando a mão no bolso. “– Se o senhor vai me dizer que ele quer dinheiro – disse a viúva –, eu já sei disso, e não precisa se dar ao trabalho. “– Ora, que tolice, não é nada disso – disse Tom Smart –; até eu quero dinheiro. Não é isso, não. “– Ah, puxa vida, e o que pode ser, então? – exclamou a pobre viúva. “– Não fique assustada – disse Tom Smart. Ele tirou a carta do bolso bem devagar e abriu-a. – A senhora promete que não vai gritar? – perguntou Tom, em dúvida. “– Não, não vou gritar – respondeu a viúva –; deixe-me ver isso. “– A senhora não vai desmaiar ou alguma besteira assim, vai? – perguntou Tom. “– Não, não – replicou a viúva, mais que depressa. “– E não precisa sair correndo e passar uma descompostura nele – disse Tom –, porque eu posso fazer tudo isso para a senhora; é melhor a senhora não gastar suas forças com isso. “– Pois bem – disse a viúva –, deixe-me ver isso. “– Eu deixo – respondeu Tom Smart; e, com essas palavras, colocou a carta nas mãos da viúva. “Cavalheiros, eu escutei o meu tio dizer que Tom Smart contou que os lamentos da viúva, quando ela soube daquela revelação, teriam penetrado um coração de pedra. Tom, com certeza, era muito sensível, e aqueles lamentos penetraram o âmago do seu coração. A viúva se balançava para frente e para trás e torcia e retorcia as mãos. “– Ah, as maldades e as trapaças dos homens! – disse a viúva.
“– Horrível, minha cara; mas a senhora tem que se recompor – disse Tom Smart. “– Ah, eu não consigo – gritou a viúva. – Nunca mais vou encontrar um outro de quem eu goste tanto! “– Ah, vai encontrar sim, minha alma querida – disse Tom Smart, deixando cair uma chuva de lágrimas, daquelas bem grandes, pelo infortúnio da viúva. Tom Smart, no vigor de sua compaixão, tinha enlaçado a cintura da viúva; e a viúva, no auge de sua dor, tinha enlaçado sua mão com a mão dele. Ela olhou para o rosto de Tom e deu um sorriso em meio às lágrimas. Tom olhou para o rosto dela e também deu um sorriso em meio às lágrimas. “Eu nunca consegui descobrir, cavalheiros, se Tom beijou ou não a viúva naquele exato momento. Ele costumava contar para o meu tio que não, mas tenho minhas dúvidas sobre isso. Cá entre nós, cavalheiros, acho que beijou, sim. “De todo modo, meia hora depois, Tom enxotou o homem muito alto pela porta da frente e, um mês depois, casou com a viúva. E ele costumava viajar pelo país, com o cabriolé cor de barro, de rodas vermelhas, e a égua rabugenta de trote rápido, até o dia em que ele desistiu dos negócios, muitos anos depois, e foi para a França com a esposa; e então a antiga casa foi demolida.”
A HISTÓRIA DOS DUENDES QUE SEQUESTRARAM UM COVEIRO
Em uma velha cidade que teve suas origens em uma abadia, aqui nessa parte do país, há muito, muito tempo atrás – tanto tempo que a história deve ser verdadeira, porque os nossos tataravós implicitamente acreditavam nela –, ali trabalhava no ofício de coveiro, no cemitério do pátio da igreja, um tal de Gabriel Grub. Não se segue, de modo algum, que, só porque um homem é coveiro e está sempre rodeado de emblemas da mortalidade, ele deva ser necessariamente um homem soturno e melancólico; nossos agentes funerários são os sujeitos mais alegres do mundo; e eu uma vez tive a honra de ter como meu amigo próximo um agente funerário que, em sua vida pessoal e em suas horas de lazer, era o sujeito mais engraçado e mais brincalhão que se podia conhecer entoando uma canção popular e divertida, sem se atrapalhar com a letra, ou então esvaziando um copo de alguma bebida forte de um só trago, sem nem parar para respirar. Mas, apesar desses exemplos, um sujeito irritadiço, chamado Gabriel Grub, era mal-humorado, intratável, grosseiro – um homem antipático e solitário que não se dava com ninguém a não ser consigo mesmo e com uma velha garrafa forrada de palhinha que se encaixava no bolso grande de seu colete – e que encarava cada rosto alegre que passasse por ele com uma tal carranca de crueldade e mau humor que ficava difícil alguém olhar para ele e não se sentir mal. Um pouco antes do entardecer, uma véspera de Natal, Gabriel colocou sua pá ao ombro, acendeu sua lamparina e se pôs a caminho do velho cemitério, pois tinha uma cova para terminar até a manhã seguinte e, sentindo-se muito tristonho, pensou que aquilo talvez pudesse animá-lo se pegasse logo de uma vez no trabalho. À medida que seguia em seu caminho, pegando a rua antiga, ele enxergava a luz alegre e cintilante das lareiras brilhando por trás das velhas vidraças e ouvia as gargalhadas e os gritos entusiasmados daqueles que se reuniam ao redor do fogo; notava o alvoroço dos preparativos para os festejos do dia seguinte e sentia os diferentes e deliciosos aromas, que escapavam fumegantes pelas janelas das cozinhas, em nuvens. Tudo isso chegava ao coração de Gabriel Grub como corrosivo fel; e, quando bandos de crianças, saindo de suas casas, disparavam porta afora, cruzavam a rua e, antes que pudessem bater na porta da casa em frente, já eram recebidas e rodeadas por meia dúzia de pestinhas exultantes, de cabelos cacheadinhos, enquanto subiam todos juntos até o segundo andar para passar a noite em brincadeiras de Natal, Gabriel sorria de modo sinistro e apertava com mais força ainda o cabo de sua pá, enquanto ia pensando em sarampo, escarlatina, sapinho, coqueluche e outras fontes muito boas de consolo além dessas. Nessa alegre disposição de espírito, Gabriel seguia a passos largos, respondendo com um resmungo breve e emburrado aos cumprimentos bemhumorados daqueles vizinhos que de vez em quando passavam por ele, até que dobrou uma esquina e entrou na ruela escura que levava ao cemitério. Ora, Gabriel estivera na expectativa de chegar à ruela escura porque ela era, de um modo geral, um lugar agradável, sombrio, fúnebre, onde as gentes da cidade não faziam questão de ir, exceto em plena luz do dia, e isso num dia ensolarado; resulta daí que ele ficou tremendamente indignado ao ouvir um rapazola qualquer cantando em altos brados uma festiva canção sobre um Natal feliz, ali naquele santuário que fora batizado de rua dos Esquifes desde os tempos da velha abadia, desde os dias dos monges de cabeça raspada. À medida que Gabriel seguia em frente e a voz chegava cada vez mais perto, ele descobriu que vinha de um menininho que estava só e se apressava para juntar-se a uma das festinhas da rua antiga e que, um pouco para fazer companhia a si mesmo e um pouco para se preparar para a ocasião, berrava a canção com toda a força de seus pulmões. Então, Gabriel esperou até que o menininho aparecesse e levou-o para um canto e bateu na cabeça dele com a lamparina umas cinco ou seis vezes, para ensiná-lo a modular sua voz. Enquanto o menino fugia correndo, com a mão na cabeça, entoando música bem diferente, Gabriel Grub dava gostosas risadas para si mesmo e entrava no cemitério, fechando o portão atrás de si. Tirou o casaco, largou a lamparina e, entrando na cova inacabada, trabalhou nela por mais ou menos uma hora, com toda a boa vontade. Mas a terra estava endurecida pela geada, e não era tarefa fácil quebrá-la em pedaços e atirá-la para fora do buraco com a pá; e, embora houvesse uma lua no céu, era o começo da lua crescente, e ela pouco iluminava a cova, que estava na sombra da igreja. Em qualquer outro momento, esses obstáculos teriam deixado Gabriel Grub muito irritado e infeliz, mas ele estava tão contente por ter interrompido a cantoria do menininho que não deu muita atenção ao escasso progresso que tinha feito e olhou para dentro da cova, quando deu por terminado o trabalho por aquela noite, com cruel satisfação, murmurando enquanto recolhia suas coisas: Admirável acomodação para um e nada mais Terra fria em cima de uma vida acabada Pedra tumular – na cabeça, inscrição lapidar Refeição rica e suculenta os vermes vão cear Grama verde para a caveira, e o resto é lama Em solo sagrado, acomodação para um é bacana – Rá, rá! Rá, rá! – riu-se Gabriel Grub, quando se sentou numa pedra tumular que era um dos seus locais preferidos de descanso e pegou sua garrafa forrada de palhinha. – Um esquife no Natal! Uma caixa das grandes de presente de Natal. Rá, rá, rá! – Rá, rá, rá! – repetiu uma voz que soou próxima, atrás dele. Gabriel parou, com certo alarme, no ato de erguer a garrafa forrada de palhinha aos lábios, e olhou em volta. O fundo da sepultura mais antiga que havia ali não estava mais silencioso e parado que o cemitério da igreja à luz pálida do luar. A geada reluzia nas lápides e cintilava como fileiras de pedras preciosas no meio dos entalhes de pedra da velha igreja. A neve jazia dura e quebradiça no solo e esparramava-se por cima dos muitos montículos de terra a toda volta; era uma cobertura tão branca e tão lisa que parecia que cadáveres jaziam ali, escondidos apenas por lençóis retorcidos. Nem um mínimo farfalhar quebrava a profunda tranquilidade da cena solene. O próprio som parecia estar congelado, por estar tudo tão gelado e imóvel. – Foi o eco – disse Gabriel Grub, levando a garrafa aos lábios uma vez mais. – Não foi não – disse uma voz profunda. Gabriel deu um pulo e ficou enraizado àquele ponto onde estava, tomado de susto e de terror, pois seu olhar pousou em uma forma que fez seu sangue gelar. Sentada em uma lápide vertical, próxima a ele, estava uma figura estranha e espectral que, Gabriel logo sentiu, não era um ser deste mundo. Suas pernas fantasticamente compridas, que poderiam estar tocando o solo, estavam encolhidas e cruzadas de um jeito bizarro, fantástico; seus braços fortes estavam nus; e suas mãos estavam apoiadas nos joelhos. Sobre o corpo curto e redondo, ele usava uma roupa pesada e enfeitada com pespontos; uma capa curta pendia, balançando, de suas costas; a gola era cortada em curiosas pontas e, no duende, fazia as vezes de uma gola pregueada ou de um lenço de pescoço; e seus sapatos bicudos tinham as longas, enormes pontas enroladas para cima. Na cabeça, usava um chapéu de aba larga, em forma de cone, enfeitado com uma única pena. O chapéu estava branco de geada, e o duende parecia estar sentado muito confortavelmente naquela mesma lápide fazia uns duzentos ou trezentos anos. Estava sentado perfeitamente imóvel; estava pondo a língua para fora, como que por escárnio; e estava mostrando os dentes para Gabriel Grub num sorriso que só mesmo um duende poderia esboçar. – Não foi o eco – disse o duende. Gabriel Grub estava paralisado e não pôde responder àquilo. – O que você está fazendo aqui na véspera de Natal? – perguntou o duende, em tom áspero. – Vim cavar uma sepultura, senhor – gaguejou Gabriel Grub. – Que homem perambula entre sepulturas e cemitérios numa noite como esta? – berrou o duende. – Gabriel Grub! Gabriel Grub! – gritou um coro selvagem que parecia encher o cemitério. Gabriel olhou em volta, amedrontado: não havia nada à vista. – O que você tem nessa garrafa? – perguntou o duende. – Gim holandês, senhor – respondeu o coveiro, tremendo mais do que nunca; pois ele tinha comprado o gim dos contrabandistas e achou que talvez o seu inquisidor pudesse ser um cobrador de impostos dos duendes. – Quem bebe gim holandês sozinho, e num cemitério, numa noite como esta? – disse o duende. – Gabriel Grub! Gabriel Grub! – exclamaram as vozes selvagens, mais uma vez.
O duende fitou com maldade o coveiro aterrorizado e, erguendo a voz, exclamou: – E quem é, então, nosso prêmio justo e legítimo? A essa pergunta, o coro invisível respondeu com uma melodia que soou como as vozes de muitos coralistas acompanhando o som poderoso do órgão da velha igreja – uma melodia que parecia chegar aos ouvidos do coveiro trazida por um vento selvagem e ia morrendo conforme passava; mas o peso da resposta era sempre o mesmo: “Gabriel Grub! Gabriel Grub!”. O duende abriu um sorriso ainda maior que antes quando disse: – Bem, Gabriel, o que você diz diante disso? O coveiro tentou recuperar o fôlego. – O que você acha disso, Gabriel? – perguntou o duende, chutando os pés para cima, um de cada lado da lápide, e olhando para as pontas enroladas de seus sapatos com muita satisfação, como se estivesse contemplando o par de sapatos Wellington mais chique de toda a Bond Street. – É... é... muito curioso, senhor – respondeu o coveiro, quase morto de susto. – Muito curioso e muito bonito, mas eu acho que vou voltar e terminar o meu trabalho, se o senhor me der licença. – Trabalho! – disse o duende. – Que trabalho? – A cova, senhor, fazer a cova – gaguejou o coveiro. – Ah, fazer a cova, hein? – disse o duende. – Quem é que cava sepulturas numa época em que todos os outros homens estão festejando e sente prazer nisso? Novamente, as vozes misteriosas responderam: “Gabriel Grub! Gabriel Grub!”. – Receio que os meus amigos queiram você, Gabriel – falou o duende, empurrando a língua contra a bochecha o mais que podia. E que língua assombrosa! – Receio que os meus amigos queiram você, Gabriel – repetiu. – Por favor, senhor – respondeu o coveiro, dominado pelo pavor –, eu acho que eles não têm por que me querer. Eles nem me conhecem, senhor. Acho que os cavalheiros nunca me viram, senhor. – Ah, mas eles viram, sim – respondeu o duende. – Nós conhecemos o homem rabugento e de rosto carrancudo que veio pela rua esta noite, olhando com crueldade as crianças e agarrando mais e mais forte a sua pá de cavar sepulturas. Nós conhecemos o homem que bateu no menino com a maldade invejosa de seu coração, só porque o menino sabia ser feliz, e ele não. Nós o conhecemos! Nós o conhecemos! Nesse ponto, o duende, rindo muito alto, soltou uma gargalhada esganiçada, e o eco devolveu-a vinte vezes mais alta e esganiçada. Jogando as pernas para o ar, plantou bananeira, ou melhor, apoiou o peso do corpo na ponta do seu chapéu em cone, na beirada estreita da lápide; nisso, ele deu um salto mortal com extraordinária agilidade, indo parar exatamente aos pés do coveiro, onde plantou-se numa pose em que os alfaiates costumam sentar-se para costurar. – Eu... eu acho que preciso ir agora – disse o coveiro, fazendo um enorme esforço para se mover. – Precisa ir! – disse o duende. – Gabriel Grub precisa ir! Rá, rá, rá! Enquanto o duende ria, o coveiro notou, por um instante, uma iluminação brilhante dentro das janelas da igreja, como se todo o prédio estivesse iluminado; desapareceu; o órgão ressoou com uma melodia alegre e tropas inteiras de duendes, em exato contraponto ao primeiro duende, derramaram-se pelo cemitério e começaram a brincar de pular carneirinho com as lápides; faziam isso sem parar para tomar fôlego; pulavam sobre a lápide mais alta de todas, um após o outro, com surpreendente destreza. O primeiro duende era um pulador incrível, e nenhum dos outros conseguia chegar nem perto do que ele fazia; mesmo no máximo de seu sentimento de terror, o coveiro não pôde deixar de observar que, enquanto os amigos do primeiro duende satisfaziam-se em saltar sobre as lápides de tamanho comum, o primeiro pulava por cima dos jazigos de famílias, por cima das balaustradas de ferro e por cima de tudo o mais, com tanta facilidade como se todos aqueles obstáculos fossem placas de rua. Por fim, o jogo atingiu o seu ápice; o órgão tocava cada vez mais rápido, e os duendes pulavam com velocidade cada vez maior; encolhendose, rolando em cambalhotas no chão e ricocheteando sobre as lápides como se fossem bolas de futebol. O cérebro do coveiro girava com a mesma rapidez dos movimentos que ele contemplava, e suas pernas cederam quando os espíritos voaram diante de seus olhos; quando o rei dos duendes de repente veio a toda em sua direção, pousou a mão em sua gola e afundou com ele terra adentro. Quando Gabriel Grub teve tempo de retomar o fôlego que a velocidade da descida havia roubado dele por um momento, viu que estava dentro do que parecia ser uma enorme caverna, rodeado de todos os lados por multidões de duendes, feios e sinistros; no centro do salão, em um trono mais elevado, ali estava o seu amigo do cemitério da igreja; e bem pertinho, ao lado dele, ali estava Gabriel Grub, o próprio, incapaz de se mexer. – Noite fria – disse o rei dos duendes –, muito fria. Um copo de bebida quente, aqui! Ao comando dele, meia dúzia de zelosos duendes com um eterno sorriso na cara, que Gabriel Grub imaginou fossem cortesãos, justo por aquela razão, desapareceram muito apressadamente e logo retornaram com uma taça de fogo líquido, que entregaram ao rei. – Ah! – gritou o duende, cujas faces e garganta eram transparentes, enquanto engolia de um trago a chama. – Isto esquenta qualquer um, de verdade! Tragam um cálice cheio até a borda desta mesma bebida para o sr. Grub. Em vão o infeliz coveiro protestou, argumentando que não tinha o hábito de tomar bebidas quentes à noite; um dos duendes segurou-o, enquanto outro derramava o líquido em chamas em sua goela; toda a assembleia de duendes guinchava de tanto rir enquanto ele tossia e se afogava e enxugava as lágrimas que jorravam de seus olhos após ter engolido a bebida que lhe desceu queimando a garganta. – E agora – disse o rei, cutucando de forma fantástica, com a ponta aguda de seu chapéu em forma de cone, o olho do coveiro, ocasionando-lhe a mais perfeita de todas as dores –, e agora mostrem ao homem do sofrimento e da tristeza alguns dos quadros do nosso enorme depósito. Assim que o duende disse isso, uma nuvem espessa, que obscurecia até o mais remoto canto da caverna, foi gradualmente se abrindo, dissipando-se, para revelar, aparentemente a uma grande distância, um apartamento pequeno e com pouquíssimos móveis, mas limpo e arrumado. Uma porção de crianças pequenas agrupava-se perto do fogo brilhante da lareira e agarrava-se ao vestido da mãe e brincava ao redor da cadeira onde estava sentada. A mãe vez que outra levantava-se e afastava a cortina da janela, como se tentasse enxergar algum objeto esperado; uma refeição frugal estava pronta e servida à mesa; e uma cadeira de braço estava posicionada perto do fogo. Alguém bateu à porta; a mãe abriu, e as crianças agruparam-se ao redor dela e bateram palminhas de alegria quando o pai entrou. Ele estava molhado e exausto e sacudiu a neve de seus trajes enquanto as crianças agrupavam-se ao redor dele e, recebendo o seu capote, o chapéu, a bengala e as luvas, correram, com cuidado e alvoroço, para fora da sala, carregando aquilo tudo. Então, quando ele se sentou para sua refeição diante da lareira, as crianças subiram no seu colo, e a mãe sentou-se ao seu lado, e tudo parecia ser felicidade e conforto. Mas uma transformação ocorreu naquele quadro, de modo quase imperceptível. A cena foi alterada para um pequeno quarto de dormir, onde a criança mais novinha e mais bonitinha estava na cama, morrendo; o rosado de suas bochechas havia sumido, e também havia sumido a luz de seus olhos. E, bem quando o coveiro olhou para o menininho com um interesse que jamais sentira ou conhecera antes, ele morreu. Os irmãozinhos e irmãzinhas agruparam-se ao redor da caminha e pegaram sua mão, tão pequeninha, tão gelada e tão pesada; e, àquele toque, eles recuaram e olharam com temor o rosto do bebê; mesmo que ele estivesse calmo e tranquilo, e dormindo em paz no seu repouso – como parecia estar aquela linda criança –, eles entenderam que ele estava morto e sabiam que ele agora era um anjo olhando de lá de cima para eles aqui embaixo e abençoando-os de onde ele estava: num céu brilhante e feliz. Uma vez mais a nuvem etérea atravessou o quadro, e uma vez mais o cenário mudou. O pai e a mãe estavam envelhecidos e sem o vigor de antes, e o número dos que lhes rodeavam havia diminuído em mais da metade; mas a satisfação e a animação transpareciam em cada rosto e iluminavam cada olhar quando agrupavam-se à volta da lareira e contavam e escutavam velhas histórias de outros tempos, de tempos que já não voltam mais. Vagarosa e pacificamente, o pai afundou para dentro de sua sepultura e, logo em seguida, aquela que partilhou de todos os seus desvelos e problemas seguiu-o até seu local de descanso. Os poucos que ainda sobreviviam àqueles dois ajoelharam-se ao lado de onde estavam enterrados e com lágrimas aguaram a grama que cobria o local; depois, ergueram-se e foram embora com tristeza, enlutados, mas sem gritos amargos, sem lamentações desesperadas, pois sabiam que um dia iriam ao encontro deles; e, uma vez mais, misturaram-se ao mundo de pessoas atarefadas e sua satisfação e sua animação foram restauradas. A nuvem estabilizou-se sobre o quadro e escondeu-o da visão do coveiro. – O que você pensa disso? – perguntou o duende, virando o seu enorme rosto para Gabriel Grub. Gabriel murmurou algo sobre aquilo ser muito bonito e pareceu ficar um pouco envergonhado, enquanto o duende jogava seu olhar causticante sobre ele. – Você, um homem sofrido! – disse o duende, num tom de voz que traduzia excessivo desprezo. – Você! Ele parecia disposto a acrescentar mais alguma coisa, mas a indignação sufocava a sua fala, de modo que ele ergueu uma de suas pernas muito flexíveis e, com ela fazendo um pequeno floreio acima da cabeça, para assegurar-se de seu alvo, deu um tremendo chute em Gabriel Grub; imediatamente depois disso, todos os duendes à espera agruparam-se ao redor daquele coveiro desgraçado e chutaram-no sem misericórdia, de acordo com o costume estabelecido e invariável dos cortesãos desse mundo: chuta-se aqueles a quem a realeza chutou e abraça-se aqueles a quem a realeza abraçou. – Deem-lhe mais do mesmo tratamento! – disse o rei dos duendes. A essas palavras, a nuvem desencantou, e uma paisagem muito rica e muito linda descortinou-se à visão; existe uma paisagem exatamente igual ainda hoje, a meia milha da cidade da velha abadia. O sol brilhava num céu claro e muito azul, a água brilhava sob seus raios, e as árvores pareciam mais verdes e as flores mais viçosas sob sua influência vibrante. A água corria ondulante, com um som agradabilíssimo; as árvores farfalhavam ao vento suave que murmurava entre suas folhas; os passarinhos cantavam nos galhos; e a cotovia entoava canções em alto e bom som, dando as boas-vindas à manhã de um novo dia. Sim, havia amanhecido; era verão, e a manhã estava radiante e era um bálsamo; a menor folha, a folhinha da grama, por mínima que fosse, tudo estava impregnado de vida. A formiga caminhava para sua labuta diária, a borboleta adejava as asas e repousava no ar aquecido pelos raios do sol; miríades de insetos estendiam suas asas transparentes e regozijavam-se em sua existência breve, mas feliz. O homem andava sempre em frente, empolgado com a cena; e tudo era brilho e esplendor. – Você, um homem sofrido! – disse o rei dos duendes num tom de voz que traduzia ainda mais desprezo que antes. E, de novo, o rei dos duendes fez um floreio com a perna; de novo, ela desceu sobre os ombros do coveiro; e, de novo, os duendes serviçais imitaram o exemplo de seu chefe. Muitas vezes a nuvem sumiu e voltou, e muitas lições ela ensinou a Gabriel Grub, que, embora tivesse os ombros ardendo de dor dos frequentes chutes dos duendes, continuava olhando com um interesse que nada conseguia diminuir. Ele viu que os homens que trabalhavam duro e ganhavam o escasso pão de cada dia com vidas inteiras de muita labuta eram pessoas animadas e felizes; e que, para os mais ignorantes, a doce face da natureza era uma fonte incessante de animação e alegria. Ele viu aqueles que haviam sido criados com delicadeza e educados com carinho: eram otimistas diante das privações e superiores ao sofrimento que teria arrasado muitos homens de formação mais dura – isso porque traziam dentro do peito a matéria bruta de que são feitas a felicidade, a satisfação e a paz de espírito. Ele viu que as mulheres, as mais suaves e mais frágeis dentre as criaturas de Deus, eram na maioria das vezes superiores ao sofrimento, à adversidade e às preocupações; e viu que isso se dava porque elas traziam em seus corações um manancial inexaurível de afeição e devoção. Acima de tudo, ele viu que homens como ele, que rosnavam para as celebrações e a animação dos outros, eram as piores ervas daninhas da bela superfície da terra; e, separando tudo o que há de bom no mundo de tudo o que há de mau no mundo, ele chegou à conclusão de que, afinal, era um tipo de mundo bem decente e respeitável. Nem bem chegara a essa conclusão e a nuvem que se fechara sobre o último quadro pareceu estacionar em seus sentidos e niná-lo para que ele repousasse. Um por um, os duendes sumiram de vista; e, quando o último deles desapareceu, Gabriel Grub afundou no sono. O dia já havia clareado quando Gabriel Grub acordou e viu que estava deitado ao comprido numa pedra tumular no cemitério da igreja, com a garrafa forrada de palhinha ao seu lado e vazia; seu casaco, a pá e a lamparina, todos bem branquinhos da geada da noite anterior, estavam atirados pelo chão. A lápide onde ele vira pela primeira vez o duende sentado estava ali, ereta, reta, aprumada e empertigada diante dele, e a cova na qual estivera trabalhando na noite anterior, esta não estava longe dali. Primeiro, ele chegou a duvidar da realidade de suas aventuras, mas a dor aguda nos ombros quando tentou levantar-se assegurou-lhe de que os chutes dos duendes com certeza não foram imaginários. Ficou perplexo uma vez mais ao observar que não havia vestígios de pegadas na neve onde os duendes haviam brincado de pular carneirinho com as lápides, mas logo encontrou a explicação dessa circunstância quando lembrou que, por serem espíritos, eles não iriam deixar impressões visíveis para trás. Assim, Gabriel Grub levantou-se da melhor maneira que pôde, dada a dor nas costas, e, sacudindo a geada de seu casaco, vestiu-o; e voltou seu olhar para a cidade. Mas ele era um outro homem e não podia suportar a ideia de voltar para um lugar onde o seu arrependimento seria motivo de piada e onde a sua transformação seria desacreditada. Hesitou por alguns momentos e então deu as costas à cidade para pensar em que outro lugar ele poderia tentar ganhar o seu pão de cada dia. A lanterna, a pá e a garrafa forrada de palhinha foram encontradas,
naquele mesmo dia, no cemitério da igreja. A princípio, houve grandes especulações sobre o destino do coveiro, mas logo ficou definido que ele havia sido levado embora pelos duendes; e não faltaram testemunhas respeitáveis que tivessem visto com nitidez ele ser carregado rapidamente pelo ar, montado num cavalo de pelo castanho e cego de um olho, com a traseira de um leão e o rabo de um urso. No fim, tudo isso virou uma história em que todos acreditavam piamente; e o novo coveiro costumava exibir aos curiosos, por um dinheirinho de nada, um pedaço de bom tamanho do galo da rosa dos ventos da igreja que fora acidentalmente chutado pelo cavalo acima mencionado em seu voo de fuga; pedaço esse que fora recolhido por ele mesmo no cemitério da igreja coisa de um ou dois anos atrás. Infelizmente, essas histórias ficaram um pouco atrapalhadas pelo inesperado ressurgimento do próprio Gabriel Grub uns dez anos mais tarde, desta vez um velhinho reumático, maltrapilho e contente da vida. Ele contou sua história ao pároco e também ao prefeito; e, no decorrer do tempo, essa história começou a ser aceita como fato histórico e é dessa forma que ela continua a ser contada até os dias de hoje. Quanto aos que tinham acreditado na lorota do galo da rosa dos ventos, uma vez tendo depositado sua confiança na história errada, não foram facilmente persuadidos a trocar de história e, portanto, de modo que parecessem tão sábios quanto possível, davam de ombros, levavam a mão à testa e murmuravam alguma coisa sobre Gabriel Grub ter bebido todo o gim holandês e então ter pegado no sono deitado na pedra da sepultura; e eles faziam questão de explicar aquilo que Gabriel Grub supunha ter testemunhado na caverna dos duendes, dizendo que ele simplesmente tinha visto o mundo e ficara mais sábio. Mas essa opinião, que definitivamente não se popularizou em nenhum momento, foi gradualmente esquecida. Seja lá como for, uma vez que Gabriel Grub sofreu de reumatismo até o fim de seus dias, esta história pelo menos tem uma moral, se não servir para ensinar coisa melhor; e a moral da história diz que, se um homem se torna rabugento e bebe desacompanhado na temporada de festas natalinas, ele pode ter certeza de que não será um homem melhor por causa disso; que os espíritos sejam sempre os melhores possíveis, ou então que sua presença esteja a muitos graus de distância do teor de uma prova concreta, como os espíritos que Gabriel Grub viu na caverna dos duendes.
Em uma velha cidade que teve suas origens em uma abadia, aqui nessa parte do país, há muito, muito tempo atrás – tanto tempo que a história deve ser verdadeira, porque os nossos tataravós implicitamente acreditavam nela –, ali trabalhava no ofício de coveiro, no cemitério do pátio da igreja, um tal de Gabriel Grub. Não se segue, de modo algum, que, só porque um homem é coveiro e está sempre rodeado de emblemas da mortalidade, ele deva ser necessariamente um homem soturno e melancólico; nossos agentes funerários são os sujeitos mais alegres do mundo; e eu uma vez tive a honra de ter como meu amigo próximo um agente funerário que, em sua vida pessoal e em suas horas de lazer, era o sujeito mais engraçado e mais brincalhão que se podia conhecer entoando uma canção popular e divertida, sem se atrapalhar com a letra, ou então esvaziando um copo de alguma bebida forte de um só trago, sem nem parar para respirar. Mas, apesar desses exemplos, um sujeito irritadiço, chamado Gabriel Grub, era mal-humorado, intratável, grosseiro – um homem antipático e solitário que não se dava com ninguém a não ser consigo mesmo e com uma velha garrafa forrada de palhinha que se encaixava no bolso grande de seu colete – e que encarava cada rosto alegre que passasse por ele com uma tal carranca de crueldade e mau humor que ficava difícil alguém olhar para ele e não se sentir mal. Um pouco antes do entardecer, uma véspera de Natal, Gabriel colocou sua pá ao ombro, acendeu sua lamparina e se pôs a caminho do velho cemitério, pois tinha uma cova para terminar até a manhã seguinte e, sentindo-se muito tristonho, pensou que aquilo talvez pudesse animá-lo se pegasse logo de uma vez no trabalho. À medida que seguia em seu caminho, pegando a rua antiga, ele enxergava a luz alegre e cintilante das lareiras brilhando por trás das velhas vidraças e ouvia as gargalhadas e os gritos entusiasmados daqueles que se reuniam ao redor do fogo; notava o alvoroço dos preparativos para os festejos do dia seguinte e sentia os diferentes e deliciosos aromas, que escapavam fumegantes pelas janelas das cozinhas, em nuvens. Tudo isso chegava ao coração de Gabriel Grub como corrosivo fel; e, quando bandos de crianças, saindo de suas casas, disparavam porta afora, cruzavam a rua e, antes que pudessem bater na porta da casa em frente, já eram recebidas e rodeadas por meia dúzia de pestinhas exultantes, de cabelos cacheadinhos, enquanto subiam todos juntos até o segundo andar para passar a noite em brincadeiras de Natal, Gabriel sorria de modo sinistro e apertava com mais força ainda o cabo de sua pá, enquanto ia pensando em sarampo, escarlatina, sapinho, coqueluche e outras fontes muito boas de consolo além dessas. Nessa alegre disposição de espírito, Gabriel seguia a passos largos, respondendo com um resmungo breve e emburrado aos cumprimentos bemhumorados daqueles vizinhos que de vez em quando passavam por ele, até que dobrou uma esquina e entrou na ruela escura que levava ao cemitério. Ora, Gabriel estivera na expectativa de chegar à ruela escura porque ela era, de um modo geral, um lugar agradável, sombrio, fúnebre, onde as gentes da cidade não faziam questão de ir, exceto em plena luz do dia, e isso num dia ensolarado; resulta daí que ele ficou tremendamente indignado ao ouvir um rapazola qualquer cantando em altos brados uma festiva canção sobre um Natal feliz, ali naquele santuário que fora batizado de rua dos Esquifes desde os tempos da velha abadia, desde os dias dos monges de cabeça raspada. À medida que Gabriel seguia em frente e a voz chegava cada vez mais perto, ele descobriu que vinha de um menininho que estava só e se apressava para juntar-se a uma das festinhas da rua antiga e que, um pouco para fazer companhia a si mesmo e um pouco para se preparar para a ocasião, berrava a canção com toda a força de seus pulmões. Então, Gabriel esperou até que o menininho aparecesse e levou-o para um canto e bateu na cabeça dele com a lamparina umas cinco ou seis vezes, para ensiná-lo a modular sua voz. Enquanto o menino fugia correndo, com a mão na cabeça, entoando música bem diferente, Gabriel Grub dava gostosas risadas para si mesmo e entrava no cemitério, fechando o portão atrás de si. Tirou o casaco, largou a lamparina e, entrando na cova inacabada, trabalhou nela por mais ou menos uma hora, com toda a boa vontade. Mas a terra estava endurecida pela geada, e não era tarefa fácil quebrá-la em pedaços e atirá-la para fora do buraco com a pá; e, embora houvesse uma lua no céu, era o começo da lua crescente, e ela pouco iluminava a cova, que estava na sombra da igreja. Em qualquer outro momento, esses obstáculos teriam deixado Gabriel Grub muito irritado e infeliz, mas ele estava tão contente por ter interrompido a cantoria do menininho que não deu muita atenção ao escasso progresso que tinha feito e olhou para dentro da cova, quando deu por terminado o trabalho por aquela noite, com cruel satisfação, murmurando enquanto recolhia suas coisas: Admirável acomodação para um e nada mais Terra fria em cima de uma vida acabada Pedra tumular – na cabeça, inscrição lapidar Refeição rica e suculenta os vermes vão cear Grama verde para a caveira, e o resto é lama Em solo sagrado, acomodação para um é bacana – Rá, rá! Rá, rá! – riu-se Gabriel Grub, quando se sentou numa pedra tumular que era um dos seus locais preferidos de descanso e pegou sua garrafa forrada de palhinha. – Um esquife no Natal! Uma caixa das grandes de presente de Natal. Rá, rá, rá! – Rá, rá, rá! – repetiu uma voz que soou próxima, atrás dele. Gabriel parou, com certo alarme, no ato de erguer a garrafa forrada de palhinha aos lábios, e olhou em volta. O fundo da sepultura mais antiga que havia ali não estava mais silencioso e parado que o cemitério da igreja à luz pálida do luar. A geada reluzia nas lápides e cintilava como fileiras de pedras preciosas no meio dos entalhes de pedra da velha igreja. A neve jazia dura e quebradiça no solo e esparramava-se por cima dos muitos montículos de terra a toda volta; era uma cobertura tão branca e tão lisa que parecia que cadáveres jaziam ali, escondidos apenas por lençóis retorcidos. Nem um mínimo farfalhar quebrava a profunda tranquilidade da cena solene. O próprio som parecia estar congelado, por estar tudo tão gelado e imóvel. – Foi o eco – disse Gabriel Grub, levando a garrafa aos lábios uma vez mais. – Não foi não – disse uma voz profunda. Gabriel deu um pulo e ficou enraizado àquele ponto onde estava, tomado de susto e de terror, pois seu olhar pousou em uma forma que fez seu sangue gelar. Sentada em uma lápide vertical, próxima a ele, estava uma figura estranha e espectral que, Gabriel logo sentiu, não era um ser deste mundo. Suas pernas fantasticamente compridas, que poderiam estar tocando o solo, estavam encolhidas e cruzadas de um jeito bizarro, fantástico; seus braços fortes estavam nus; e suas mãos estavam apoiadas nos joelhos. Sobre o corpo curto e redondo, ele usava uma roupa pesada e enfeitada com pespontos; uma capa curta pendia, balançando, de suas costas; a gola era cortada em curiosas pontas e, no duende, fazia as vezes de uma gola pregueada ou de um lenço de pescoço; e seus sapatos bicudos tinham as longas, enormes pontas enroladas para cima. Na cabeça, usava um chapéu de aba larga, em forma de cone, enfeitado com uma única pena. O chapéu estava branco de geada, e o duende parecia estar sentado muito confortavelmente naquela mesma lápide fazia uns duzentos ou trezentos anos. Estava sentado perfeitamente imóvel; estava pondo a língua para fora, como que por escárnio; e estava mostrando os dentes para Gabriel Grub num sorriso que só mesmo um duende poderia esboçar. – Não foi o eco – disse o duende. Gabriel Grub estava paralisado e não pôde responder àquilo. – O que você está fazendo aqui na véspera de Natal? – perguntou o duende, em tom áspero. – Vim cavar uma sepultura, senhor – gaguejou Gabriel Grub. – Que homem perambula entre sepulturas e cemitérios numa noite como esta? – berrou o duende. – Gabriel Grub! Gabriel Grub! – gritou um coro selvagem que parecia encher o cemitério. Gabriel olhou em volta, amedrontado: não havia nada à vista. – O que você tem nessa garrafa? – perguntou o duende. – Gim holandês, senhor – respondeu o coveiro, tremendo mais do que nunca; pois ele tinha comprado o gim dos contrabandistas e achou que talvez o seu inquisidor pudesse ser um cobrador de impostos dos duendes. – Quem bebe gim holandês sozinho, e num cemitério, numa noite como esta? – disse o duende. – Gabriel Grub! Gabriel Grub! – exclamaram as vozes selvagens, mais uma vez.
O duende fitou com maldade o coveiro aterrorizado e, erguendo a voz, exclamou: – E quem é, então, nosso prêmio justo e legítimo? A essa pergunta, o coro invisível respondeu com uma melodia que soou como as vozes de muitos coralistas acompanhando o som poderoso do órgão da velha igreja – uma melodia que parecia chegar aos ouvidos do coveiro trazida por um vento selvagem e ia morrendo conforme passava; mas o peso da resposta era sempre o mesmo: “Gabriel Grub! Gabriel Grub!”. O duende abriu um sorriso ainda maior que antes quando disse: – Bem, Gabriel, o que você diz diante disso? O coveiro tentou recuperar o fôlego. – O que você acha disso, Gabriel? – perguntou o duende, chutando os pés para cima, um de cada lado da lápide, e olhando para as pontas enroladas de seus sapatos com muita satisfação, como se estivesse contemplando o par de sapatos Wellington mais chique de toda a Bond Street. – É... é... muito curioso, senhor – respondeu o coveiro, quase morto de susto. – Muito curioso e muito bonito, mas eu acho que vou voltar e terminar o meu trabalho, se o senhor me der licença. – Trabalho! – disse o duende. – Que trabalho? – A cova, senhor, fazer a cova – gaguejou o coveiro. – Ah, fazer a cova, hein? – disse o duende. – Quem é que cava sepulturas numa época em que todos os outros homens estão festejando e sente prazer nisso? Novamente, as vozes misteriosas responderam: “Gabriel Grub! Gabriel Grub!”. – Receio que os meus amigos queiram você, Gabriel – falou o duende, empurrando a língua contra a bochecha o mais que podia. E que língua assombrosa! – Receio que os meus amigos queiram você, Gabriel – repetiu. – Por favor, senhor – respondeu o coveiro, dominado pelo pavor –, eu acho que eles não têm por que me querer. Eles nem me conhecem, senhor. Acho que os cavalheiros nunca me viram, senhor. – Ah, mas eles viram, sim – respondeu o duende. – Nós conhecemos o homem rabugento e de rosto carrancudo que veio pela rua esta noite, olhando com crueldade as crianças e agarrando mais e mais forte a sua pá de cavar sepulturas. Nós conhecemos o homem que bateu no menino com a maldade invejosa de seu coração, só porque o menino sabia ser feliz, e ele não. Nós o conhecemos! Nós o conhecemos! Nesse ponto, o duende, rindo muito alto, soltou uma gargalhada esganiçada, e o eco devolveu-a vinte vezes mais alta e esganiçada. Jogando as pernas para o ar, plantou bananeira, ou melhor, apoiou o peso do corpo na ponta do seu chapéu em cone, na beirada estreita da lápide; nisso, ele deu um salto mortal com extraordinária agilidade, indo parar exatamente aos pés do coveiro, onde plantou-se numa pose em que os alfaiates costumam sentar-se para costurar. – Eu... eu acho que preciso ir agora – disse o coveiro, fazendo um enorme esforço para se mover. – Precisa ir! – disse o duende. – Gabriel Grub precisa ir! Rá, rá, rá! Enquanto o duende ria, o coveiro notou, por um instante, uma iluminação brilhante dentro das janelas da igreja, como se todo o prédio estivesse iluminado; desapareceu; o órgão ressoou com uma melodia alegre e tropas inteiras de duendes, em exato contraponto ao primeiro duende, derramaram-se pelo cemitério e começaram a brincar de pular carneirinho com as lápides; faziam isso sem parar para tomar fôlego; pulavam sobre a lápide mais alta de todas, um após o outro, com surpreendente destreza. O primeiro duende era um pulador incrível, e nenhum dos outros conseguia chegar nem perto do que ele fazia; mesmo no máximo de seu sentimento de terror, o coveiro não pôde deixar de observar que, enquanto os amigos do primeiro duende satisfaziam-se em saltar sobre as lápides de tamanho comum, o primeiro pulava por cima dos jazigos de famílias, por cima das balaustradas de ferro e por cima de tudo o mais, com tanta facilidade como se todos aqueles obstáculos fossem placas de rua. Por fim, o jogo atingiu o seu ápice; o órgão tocava cada vez mais rápido, e os duendes pulavam com velocidade cada vez maior; encolhendose, rolando em cambalhotas no chão e ricocheteando sobre as lápides como se fossem bolas de futebol. O cérebro do coveiro girava com a mesma rapidez dos movimentos que ele contemplava, e suas pernas cederam quando os espíritos voaram diante de seus olhos; quando o rei dos duendes de repente veio a toda em sua direção, pousou a mão em sua gola e afundou com ele terra adentro. Quando Gabriel Grub teve tempo de retomar o fôlego que a velocidade da descida havia roubado dele por um momento, viu que estava dentro do que parecia ser uma enorme caverna, rodeado de todos os lados por multidões de duendes, feios e sinistros; no centro do salão, em um trono mais elevado, ali estava o seu amigo do cemitério da igreja; e bem pertinho, ao lado dele, ali estava Gabriel Grub, o próprio, incapaz de se mexer. – Noite fria – disse o rei dos duendes –, muito fria. Um copo de bebida quente, aqui! Ao comando dele, meia dúzia de zelosos duendes com um eterno sorriso na cara, que Gabriel Grub imaginou fossem cortesãos, justo por aquela razão, desapareceram muito apressadamente e logo retornaram com uma taça de fogo líquido, que entregaram ao rei. – Ah! – gritou o duende, cujas faces e garganta eram transparentes, enquanto engolia de um trago a chama. – Isto esquenta qualquer um, de verdade! Tragam um cálice cheio até a borda desta mesma bebida para o sr. Grub. Em vão o infeliz coveiro protestou, argumentando que não tinha o hábito de tomar bebidas quentes à noite; um dos duendes segurou-o, enquanto outro derramava o líquido em chamas em sua goela; toda a assembleia de duendes guinchava de tanto rir enquanto ele tossia e se afogava e enxugava as lágrimas que jorravam de seus olhos após ter engolido a bebida que lhe desceu queimando a garganta. – E agora – disse o rei, cutucando de forma fantástica, com a ponta aguda de seu chapéu em forma de cone, o olho do coveiro, ocasionando-lhe a mais perfeita de todas as dores –, e agora mostrem ao homem do sofrimento e da tristeza alguns dos quadros do nosso enorme depósito. Assim que o duende disse isso, uma nuvem espessa, que obscurecia até o mais remoto canto da caverna, foi gradualmente se abrindo, dissipando-se, para revelar, aparentemente a uma grande distância, um apartamento pequeno e com pouquíssimos móveis, mas limpo e arrumado. Uma porção de crianças pequenas agrupava-se perto do fogo brilhante da lareira e agarrava-se ao vestido da mãe e brincava ao redor da cadeira onde estava sentada. A mãe vez que outra levantava-se e afastava a cortina da janela, como se tentasse enxergar algum objeto esperado; uma refeição frugal estava pronta e servida à mesa; e uma cadeira de braço estava posicionada perto do fogo. Alguém bateu à porta; a mãe abriu, e as crianças agruparam-se ao redor dela e bateram palminhas de alegria quando o pai entrou. Ele estava molhado e exausto e sacudiu a neve de seus trajes enquanto as crianças agrupavam-se ao redor dele e, recebendo o seu capote, o chapéu, a bengala e as luvas, correram, com cuidado e alvoroço, para fora da sala, carregando aquilo tudo. Então, quando ele se sentou para sua refeição diante da lareira, as crianças subiram no seu colo, e a mãe sentou-se ao seu lado, e tudo parecia ser felicidade e conforto. Mas uma transformação ocorreu naquele quadro, de modo quase imperceptível. A cena foi alterada para um pequeno quarto de dormir, onde a criança mais novinha e mais bonitinha estava na cama, morrendo; o rosado de suas bochechas havia sumido, e também havia sumido a luz de seus olhos. E, bem quando o coveiro olhou para o menininho com um interesse que jamais sentira ou conhecera antes, ele morreu. Os irmãozinhos e irmãzinhas agruparam-se ao redor da caminha e pegaram sua mão, tão pequeninha, tão gelada e tão pesada; e, àquele toque, eles recuaram e olharam com temor o rosto do bebê; mesmo que ele estivesse calmo e tranquilo, e dormindo em paz no seu repouso – como parecia estar aquela linda criança –, eles entenderam que ele estava morto e sabiam que ele agora era um anjo olhando de lá de cima para eles aqui embaixo e abençoando-os de onde ele estava: num céu brilhante e feliz. Uma vez mais a nuvem etérea atravessou o quadro, e uma vez mais o cenário mudou. O pai e a mãe estavam envelhecidos e sem o vigor de antes, e o número dos que lhes rodeavam havia diminuído em mais da metade; mas a satisfação e a animação transpareciam em cada rosto e iluminavam cada olhar quando agrupavam-se à volta da lareira e contavam e escutavam velhas histórias de outros tempos, de tempos que já não voltam mais. Vagarosa e pacificamente, o pai afundou para dentro de sua sepultura e, logo em seguida, aquela que partilhou de todos os seus desvelos e problemas seguiu-o até seu local de descanso. Os poucos que ainda sobreviviam àqueles dois ajoelharam-se ao lado de onde estavam enterrados e com lágrimas aguaram a grama que cobria o local; depois, ergueram-se e foram embora com tristeza, enlutados, mas sem gritos amargos, sem lamentações desesperadas, pois sabiam que um dia iriam ao encontro deles; e, uma vez mais, misturaram-se ao mundo de pessoas atarefadas e sua satisfação e sua animação foram restauradas. A nuvem estabilizou-se sobre o quadro e escondeu-o da visão do coveiro. – O que você pensa disso? – perguntou o duende, virando o seu enorme rosto para Gabriel Grub. Gabriel murmurou algo sobre aquilo ser muito bonito e pareceu ficar um pouco envergonhado, enquanto o duende jogava seu olhar causticante sobre ele. – Você, um homem sofrido! – disse o duende, num tom de voz que traduzia excessivo desprezo. – Você! Ele parecia disposto a acrescentar mais alguma coisa, mas a indignação sufocava a sua fala, de modo que ele ergueu uma de suas pernas muito flexíveis e, com ela fazendo um pequeno floreio acima da cabeça, para assegurar-se de seu alvo, deu um tremendo chute em Gabriel Grub; imediatamente depois disso, todos os duendes à espera agruparam-se ao redor daquele coveiro desgraçado e chutaram-no sem misericórdia, de acordo com o costume estabelecido e invariável dos cortesãos desse mundo: chuta-se aqueles a quem a realeza chutou e abraça-se aqueles a quem a realeza abraçou. – Deem-lhe mais do mesmo tratamento! – disse o rei dos duendes. A essas palavras, a nuvem desencantou, e uma paisagem muito rica e muito linda descortinou-se à visão; existe uma paisagem exatamente igual ainda hoje, a meia milha da cidade da velha abadia. O sol brilhava num céu claro e muito azul, a água brilhava sob seus raios, e as árvores pareciam mais verdes e as flores mais viçosas sob sua influência vibrante. A água corria ondulante, com um som agradabilíssimo; as árvores farfalhavam ao vento suave que murmurava entre suas folhas; os passarinhos cantavam nos galhos; e a cotovia entoava canções em alto e bom som, dando as boas-vindas à manhã de um novo dia. Sim, havia amanhecido; era verão, e a manhã estava radiante e era um bálsamo; a menor folha, a folhinha da grama, por mínima que fosse, tudo estava impregnado de vida. A formiga caminhava para sua labuta diária, a borboleta adejava as asas e repousava no ar aquecido pelos raios do sol; miríades de insetos estendiam suas asas transparentes e regozijavam-se em sua existência breve, mas feliz. O homem andava sempre em frente, empolgado com a cena; e tudo era brilho e esplendor. – Você, um homem sofrido! – disse o rei dos duendes num tom de voz que traduzia ainda mais desprezo que antes. E, de novo, o rei dos duendes fez um floreio com a perna; de novo, ela desceu sobre os ombros do coveiro; e, de novo, os duendes serviçais imitaram o exemplo de seu chefe. Muitas vezes a nuvem sumiu e voltou, e muitas lições ela ensinou a Gabriel Grub, que, embora tivesse os ombros ardendo de dor dos frequentes chutes dos duendes, continuava olhando com um interesse que nada conseguia diminuir. Ele viu que os homens que trabalhavam duro e ganhavam o escasso pão de cada dia com vidas inteiras de muita labuta eram pessoas animadas e felizes; e que, para os mais ignorantes, a doce face da natureza era uma fonte incessante de animação e alegria. Ele viu aqueles que haviam sido criados com delicadeza e educados com carinho: eram otimistas diante das privações e superiores ao sofrimento que teria arrasado muitos homens de formação mais dura – isso porque traziam dentro do peito a matéria bruta de que são feitas a felicidade, a satisfação e a paz de espírito. Ele viu que as mulheres, as mais suaves e mais frágeis dentre as criaturas de Deus, eram na maioria das vezes superiores ao sofrimento, à adversidade e às preocupações; e viu que isso se dava porque elas traziam em seus corações um manancial inexaurível de afeição e devoção. Acima de tudo, ele viu que homens como ele, que rosnavam para as celebrações e a animação dos outros, eram as piores ervas daninhas da bela superfície da terra; e, separando tudo o que há de bom no mundo de tudo o que há de mau no mundo, ele chegou à conclusão de que, afinal, era um tipo de mundo bem decente e respeitável. Nem bem chegara a essa conclusão e a nuvem que se fechara sobre o último quadro pareceu estacionar em seus sentidos e niná-lo para que ele repousasse. Um por um, os duendes sumiram de vista; e, quando o último deles desapareceu, Gabriel Grub afundou no sono. O dia já havia clareado quando Gabriel Grub acordou e viu que estava deitado ao comprido numa pedra tumular no cemitério da igreja, com a garrafa forrada de palhinha ao seu lado e vazia; seu casaco, a pá e a lamparina, todos bem branquinhos da geada da noite anterior, estavam atirados pelo chão. A lápide onde ele vira pela primeira vez o duende sentado estava ali, ereta, reta, aprumada e empertigada diante dele, e a cova na qual estivera trabalhando na noite anterior, esta não estava longe dali. Primeiro, ele chegou a duvidar da realidade de suas aventuras, mas a dor aguda nos ombros quando tentou levantar-se assegurou-lhe de que os chutes dos duendes com certeza não foram imaginários. Ficou perplexo uma vez mais ao observar que não havia vestígios de pegadas na neve onde os duendes haviam brincado de pular carneirinho com as lápides, mas logo encontrou a explicação dessa circunstância quando lembrou que, por serem espíritos, eles não iriam deixar impressões visíveis para trás. Assim, Gabriel Grub levantou-se da melhor maneira que pôde, dada a dor nas costas, e, sacudindo a geada de seu casaco, vestiu-o; e voltou seu olhar para a cidade. Mas ele era um outro homem e não podia suportar a ideia de voltar para um lugar onde o seu arrependimento seria motivo de piada e onde a sua transformação seria desacreditada. Hesitou por alguns momentos e então deu as costas à cidade para pensar em que outro lugar ele poderia tentar ganhar o seu pão de cada dia. A lanterna, a pá e a garrafa forrada de palhinha foram encontradas,
naquele mesmo dia, no cemitério da igreja. A princípio, houve grandes especulações sobre o destino do coveiro, mas logo ficou definido que ele havia sido levado embora pelos duendes; e não faltaram testemunhas respeitáveis que tivessem visto com nitidez ele ser carregado rapidamente pelo ar, montado num cavalo de pelo castanho e cego de um olho, com a traseira de um leão e o rabo de um urso. No fim, tudo isso virou uma história em que todos acreditavam piamente; e o novo coveiro costumava exibir aos curiosos, por um dinheirinho de nada, um pedaço de bom tamanho do galo da rosa dos ventos da igreja que fora acidentalmente chutado pelo cavalo acima mencionado em seu voo de fuga; pedaço esse que fora recolhido por ele mesmo no cemitério da igreja coisa de um ou dois anos atrás. Infelizmente, essas histórias ficaram um pouco atrapalhadas pelo inesperado ressurgimento do próprio Gabriel Grub uns dez anos mais tarde, desta vez um velhinho reumático, maltrapilho e contente da vida. Ele contou sua história ao pároco e também ao prefeito; e, no decorrer do tempo, essa história começou a ser aceita como fato histórico e é dessa forma que ela continua a ser contada até os dias de hoje. Quanto aos que tinham acreditado na lorota do galo da rosa dos ventos, uma vez tendo depositado sua confiança na história errada, não foram facilmente persuadidos a trocar de história e, portanto, de modo que parecessem tão sábios quanto possível, davam de ombros, levavam a mão à testa e murmuravam alguma coisa sobre Gabriel Grub ter bebido todo o gim holandês e então ter pegado no sono deitado na pedra da sepultura; e eles faziam questão de explicar aquilo que Gabriel Grub supunha ter testemunhado na caverna dos duendes, dizendo que ele simplesmente tinha visto o mundo e ficara mais sábio. Mas essa opinião, que definitivamente não se popularizou em nenhum momento, foi gradualmente esquecida. Seja lá como for, uma vez que Gabriel Grub sofreu de reumatismo até o fim de seus dias, esta história pelo menos tem uma moral, se não servir para ensinar coisa melhor; e a moral da história diz que, se um homem se torna rabugento e bebe desacompanhado na temporada de festas natalinas, ele pode ter certeza de que não será um homem melhor por causa disso; que os espíritos sejam sempre os melhores possíveis, ou então que sua presença esteja a muitos graus de distância do teor de uma prova concreta, como os espíritos que Gabriel Grub viu na caverna dos duendes.
A HISTÓRIA DO TIO DO CAIXEIRO-VIAJANTE
Meu tio, cavalheiros,” disse o caixeiro-viajante, “foi um dos sujeitos mais divertidos, mais agradáveis e mais espertos que já existiram. Eu gostaria que os senhores o tivessem conhecido, cavalheiros. Pensando bem, cavalheiros, eu não gostaria que os senhores o tivessem conhecido, pois, nesse caso, os senhores estariam todos, a esta altura, provavelmente, se não mortos, na melhor das hipóteses tão próximos da morte que seriam obrigados a ficar em casa e a desistir do convívio social: o que teria me privado do prazer inenarrável de dirigir a palavra aos senhores neste momento. Cavalheiros, eu gostaria que seus pais e suas mães tivessem conhecido o meu tio. Eles o teriam admirado muito, em especial suas honoráveis mães; eu sei que elas teriam gostado dele. Se eu tivesse que destacar apenas duas entre as numerosas virtudes que adornavam o seu caráter, escolheria a mistura de ponche que ele fazia e a canção que ele entoava depois da ceia. Perdoem me demorar nessas melancólicas recordações daqueles que já partiram; não é todo dia que se encontra um homem de valor como o meu tio. “Sempre considerei um grande traço do caráter do meu tio, cavalheiros, o fato de ele ter sido companheiro e íntimo amigo de Tom Smart, da grande firma de Bilson & Slum, na rua Cateaton, no centro financeiro de Londres. Meu tio fazia cobranças para a Tiggin & Welps, mas por um bom tempo ele percorria quase o mesmo trajeto de Tom; e, logo na primeira noite em que os dois se conheceram, meu tio simpatizou com Tom, e Tom simpatizou com meu tio. Menos de meia hora depois que se conheceram, os dois apostaram um chapéu novo para ver quem preparava o melhor ponche e quem bebia um litro mais rápido. O ponche do meu tio foi julgado o mais saboroso, mas, na rapidez de beber, Tom Smart superou-o por metade de um gole. Eles entornaram outro litro cada um à saúde de ambos, e desde então ficaram amigos do peito. Há um pouco de destino nessas coisas, cavalheiros; não podemos evitar. “Na aparência física, o meu tio era um tanto mais baixo que a altura mediana; era, também, um pouquinho mais atarracado que a média, e o seu rosto, talvez um pouco mais vermelho. Tinha o rosto mais alegre que os senhores já viram, cavalheiros: um pouco ao estilo de Punch,1 mas com nariz e queixo mais bonitos; os olhos estavam sempre piscando e faiscando de bom humor, e um sorriso – não um sorriso amarelo e inexpressivo, mas um sorriso genuíno, caloroso, cordial, afável – estava sempre estampado em seu semblante. Uma vez foi arremessado do trole e aterrissou de cabeça num marco de milha. Ficou lá, nocauteado e com o rosto tão lanhado pelo cascalho que havia se amontoado ao redor do marco que, nas contundentes palavras do meu tio, se a mãe dele pudesse retornar à terra, ela não o teria reconhecido. Na verdade, quando eu penso no assunto, cavalheiros, tenho certeza que não, pois ela morreu quando o meu tio tinha dois anos e sete meses, e penso que é bem provável que, mesmo sem o cascalho, suas botas de cano alto teriam deixado a boa senhora bem confusa – que dirá o seu alegre rosto vermelho. Porém, ficou lá estirado, e escutei o meu tio contar, muitas vezes, que o homem que o socorreu disse que ele estava sorrindo tão animado como se estivesse indo para uma festa, e que, depois de lhe aplicarem uma sangria, ao se reanimar do desmaio, seus atos reflexos foram: sentar de um pulo na cama, explodir numa gargalhada, beijar a moça que segurava a bacia e pedir costeletas de ovelha e nozes em conserva. Ele adorava nozes em conserva, cavalheiros. Dizia sempre achar que, consumidas sem vinagre, elas realçavam o sabor da cerveja. “A grande jornada de meu tio acontecia no outono, quando ele cobrava dívidas e recebia pedidos, no norte: indo de Londres a Edimburgo, de Edimburgo a Glasgow, de Glasgow de volta a Edimburgo, e dali direto para Londres. Os senhores precisam entender que a segunda visita dele a Edimburgo era para o seu próprio deleite. Ele costumava voltar por uma semana, só para visitar os velhos amigos; e nisso de tomar café da manhã com este, almoçar com aquele, jantar com um terceiro e cear com aquele outro, ele passava uma semana bem atarefada. Não sei se algum dos senhores, cavalheiros, já partilhou de um hospitaleiro, substancial e verdadeiro café da manhã escocês e depois saiu para um almoço leve de uma panelada de ostras, uma dúzia de cervejas e uma dose ou duas de uísque para arrematar. Se os senhores já experimentaram isso, vão concordar comigo que é preciso estômago para depois ainda sair na intenção de jantar e cear. “Mas, abençoados sejam vossos corações e sobrancelhas, o meu tio tirava tudo isso de letra! Estava tão acostumado que, para ele, isso não passava de brincadeira de criança. Ele contava que podia acompanhar o povo de Dundee saindo, em qualquer dia da semana, e voltando para casa sem cambalear; e isso que o povo de Dundee tem estômago tão forte e um ponche tão forte, cavalheiros, que os senhores não encontram igual entre o polo sul e o polo norte. Já ouvi falar de um homem de Glasgow e outro de Dundee competindo na bebedeira por quinze horas de uma sentada só. Os dois ficaram intoxicados, tanto quanto foi possível averiguar, no mesmo instante, mas, afora esse detalhe insignificante, cavalheiros, a bebida não os afetou nem um pouco. “Certa noite, 24 horas antes do horário estipulado para o embarque de volta a Londres, o meu tio deu uma paradinha na casa de um velho amigo seu, um tal de conselheiro Mac-alguma coisa e mais quatro sílabas, que morava na parte antiga de Edimburgo. Havia a mulher do conselheiro e as três filhas do conselheiro e o filho adulto do conselheiro e três ou quatro velhos camaradas escoceses, parcimoniosos, corpulentos e de sobrancelhas grossas, que o conselheiro havia reunido para prestigiar a visita do meu tio e tornar o encontro mais divertido. Foi uma ceia gloriosa. Havia salmão e hadoque defumados, cabeça de cordeiro e um prato de miúdos de cordeiro – um famoso prato escocês, cavalheiros, que, como o meu tio costumava dizer, sempre fazia-o lembrar, ao ser trazido à mesa, a barriga de um cupido –, além de inúmeras outras coisas, das quais esqueci o nome, mas, não obstante, coisas muito saborosas. As mocinhas eram bonitas e simpáticas; a mulher do conselheiro era uma das melhores criaturas que já existiram; e o meu tio estava com ótima disposição. Por consequência disso, as garotas davam risadinhas abafadas, e a velha senhora ria alto, e o conselheiro e os outros sujeitos gargalhavam o tempo inteiro, até ficarem com as bochechas vermelhas. Não lembro bem quantos copos de ponche de uísque cada homem tomou após a ceia, mas sei que, lá por uma hora da madrugada, o filho adulto do conselheiro perdeu os sentidos ao balbuciar o primeiro verso de “Willie brewed a peck o’maut”2 e, tendo sido, da meianoite à uma, o único homem à vista acima do mogno, ocorreu a meu tio que estava quase na hora de pensar em ir embora, especialmente porque eles haviam começado a beber às sete, a fim de que meu tio pudesse retornar para casa a uma hora decente. Porém, pensando que não seria muito educado sair justo àquela hora, meu tio escarrapachou-se na poltrona, misturou outra dose, ergueu-se para propor um brinde à sua própria saúde, discursou para si mesmo de forma elegante e lisonjeira e virou o copo com grande entusiasmo. Apesar disso, ninguém acordou, e então o meu tio tomou mais um gole – puro desta vez, para evitar que o ponche não lhe caísse bem – e, agarrando com violência o seu chapéu, no outro minuto estava na rua. “Quando o meu tio fechou a porta da casa do conselheiro, encontrou uma noite tempestuosa de ventania e, firmando o chapéu na cabeça para evitar que o vento o levasse, enfiou as mãos nos bolsos e, olhando para cima, estudou as condições do tempo. As nuvens flutuavam vertiginosas, a esmo, em frente à lua: numa hora, encobrindo-a inteira; noutra, permitindoa surgir em todo o seu esplendor e espalhar sua luz sobre todos os objetos ao redor para em seguida, atropelando-a de novo, com velocidade crescente, mergulhar tudo na escuridão. ‘Honestamente, assim não vai dar’, disse o meu tio, dirigindo-se ao mau tempo, como se considerasse aquilo uma ofensa pessoal. ‘Não foi isso que eu imaginei para a minha viagem. De jeito nenhum, assim não vai dar’, disse o meu tio, de modo enfático. Tendo repetido isso várias vezes, recuperou o equilíbrio com certa dificuldade – pois, de tanto olhar para o céu, ficara zonzo – e continuou a caminhar, bem alegre. “A casa do conselheiro ficava em Canongate, e o meu tio estava indo para o outro lado da via Leith, uma caminhada de mais de milha. Dos dois lados, projetados contra o céu escuro, erguiam-se esparsos prédios altos e sombrios, com as fachadas escurecidas pelo tempo e janelas que pareciam olhos humanos que foram, com o tempo, se tornando opacos e encovados. Os prédios tinham seis, sete, oito andares, empilhados um em cima do outro, como as crianças fazem com cartas de baralho – arremessando suas sombras escuras sobre o pavimento irregular da rua e deixando a noite escura ainda mais escura. Uns poucos lampiões espalhavam-se aqui e acolá, mas serviam apenas para demarcar a entrada imunda de algum beco estreito, ou para mostrar onde uma escada de uso comum, por voltas íngremes e intricadas, dava para os vários apartamentos acima. Olhando todas essas coisas com o ar de alguém que já as vira vezes demais para, naquele momento, dar-lhes muita atenção, o meu tio caminhava pelo meio da rua, com os polegares nos bolsos do colete, permitindo-se aqui e ali entoar diferentes trechos de canções, cantando e andando com tanto espírito e boa vontade que as pessoas honestas e silenciosas despertavam assustadas de seu primeiro sono e ficavam tiritando na cama até o som esvaecer-se ao longe; quando, convencidas de que era apenas algum beberrão inveterado procurando o caminho de casa, aninhavam-se no calor das cobertas e adormeciam de novo. “Estou sendo detalhista em descrever como o meu tio caminhou pelo meio da rua, com os polegares nos bolsos do colete, cavalheiros, porque, como ele sempre costumava dizer (e com grande razão, também), não há nada de extraordinário nesta história, a menos que os senhores compreendam com exatidão desde o começo que ele não era propenso, de forma alguma, a ideias românticas e fantasiosas. “Cavalheiros, o meu tio caminhava com os polegares nos bolsos do colete, tomando o meio da rua para si e cantando, ora os versos de uma canção de amor, ora os versos de uma canção de bêbado, e, quando se cansou de ambas, assobiou melodiosamente até alcançar a ponte Norte, que, naquele ponto, liga a velha cidade de Edimburgo com a nova. Ali ele parou por um minuto, para olhar as estranhas e irregulares aglomerações de luzes sobrepostas umas as outras, brilhando tão altas ao longe que pareciam estrelas, cintilando, de um lado, a partir dos muros do castelo, e, do outro, no morro Calton, como se elas iluminassem verdadeiros castelos no ar, enquanto, lá embaixo, a velha e pitoresca cidade dormia pesadamente, na tristeza e na escuridão; o palácio e a capela da Santa Cruz, vigiados dia e noite, como um amigo do meu tio dizia, pelo velho trono do rei Artur, elevando-se carrancudo e escuro, como um gênio grosseiro, sobre a velha cidade que cuidava havia tanto tempo. Eu lhes digo, cavalheiros, meu tio parou ali, por um minuto, para olhar ao seu redor; e então, fazendo um elogio ao tempo, que havia clareado um pouco, embora a lua estivesse se pondo, continuou caminhando, tão majestoso quanto antes, mantendo-se no meio da rua com grande dignidade, dando a impressão de que gostaria de se encontrar com alguém que quisesse disputar a posse daquele espaço com ele. Não havia ninguém disposto a contestar sua posição, como ficou demonstrado; e assim ele prosseguiu, com os polegares nos bolsos do colete, como um cordeirinho. “Quando o meu tio alcançou o limite da via Leith, teve de atravessar um grande terreno baldio que o separava da rua curta onde precisava entrar para chegar direto à sua hospedaria. Ora, nesse pedaço de terreno baldio havia, naquela época, um tapume pertencente a um fabricante de rodas, que tinha um contrato com os Correios para a compra de antigas carruagens usadas para transporte de malas postais; e o meu tio, apaixonado que era por carruagens, antigas, novas ou de meia-idade, de súbito teve a ideia de sair do seu caminho sem nenhum outro propósito a não ser espiar, por entre as tábuas, essas carruagens – cerca de uma dúzia delas, lembrava-se de ter visto, aglomeradas num estado de abandono e desmanche, dentro do cercado. O meu tio era o tipo de pessoa entusiasmada e expressiva, cavalheiros; assim, descobrindo que não podia dar uma boa espiada pelas tábuas, ele pulou o tapume e, sentando-se quieto num antigo eixo de roda, começou a contemplar as carruagens do correio com um ar de seriedade. “Devia ter uma dúzia delas, ou podia ser que fosse mais – o meu tio nunca teve certeza quanto a esse ponto e, por ser um homem de escrupulosa veracidade em se tratando de números, não gostava de fazer estimativas –, mas lá estavam elas, todas amontoadas na condição mais desoladora imaginável. As portas tinham sido arrancadas de suas dobradiças e removidas dali; os estofados tinham sido retirados, à exceção de alguns retalhos pendurados aqui e ali por um prego enferrujado; não havia lanternas, os timões tinham há muito desaparecido, os elementos de ferro estavam enferrujados, a pintura estava gasta; o vento assobiava através das fendas do madeiramento posto a nu; e a chuva, que havia se acumulado nas capotas, caía, gota após gota, nos interiores, com um som oco e melancólico. Eram carcaças decadentes de finadas carruagens e, naquele lugar solitário, àquela hora da noite, pareciam deprimentes e lúgubres. “O meu tio descansou a cabeça nas mãos e imaginou a pressa das pessoas ocupadas que haviam chacoalhado, anos antes, naquelas carruagens antigas e que estavam agora tão silenciosas e mudadas quanto elas; imaginou a quantidade de pessoas a quem um desses imprestáveis veículos corroídos havia transportado, noite após noite, anos a fio, no sol e na chuva, a notícia esperada com ansiedade, a remessa de dinheiro aguardada com impaciência, a prometida garantia de saúde e segurança, o repentino anúncio de doença ou de morte. O comerciante, o noivo, a esposa, a viúva, a mãe, o estudante, a própria criança que foi em passos ainda vacilantes até a porta ao ouvir o carteiro batendo – como todos haviam esperado a chegada da velha carruagem! E onde estavam todos eles agora! “Cavalheiros, o meu tio costumava dizer que pensou tudo isso naquela hora, mas eu desconfio de que ele ficou sabendo disso depois, em algum livro, pois declarou, de forma bem clara, que, enquanto ficou sentado sobre o velho eixo de roda, olhando para as deterioradas carruagens do correio, caiu numa espécie de cochilo e foi acordado de repente por duas solenes badaladas de um sino de igreja. Ora, o meu tio nunca teve o raciocínio rápido, e, se ele tivesse pensado em todas essas coisas, tenho certeza de que ele teria demorado até as duas e meia, no mínimo. Sou, portanto, firme em minha opinião, cavalheiros, de que o meu tio caiu naquela espécie de cochilo sem ter pensado em nada. “Seja como for, um sino de igreja bateu as duas horas. O meu tio acordou, esfregou os olhos e saltou, atônito. “Um instante após o relógio bater as duas horas, todo aquele local deserto e quieto transformou-se num cenário de vida e animação extraordinárias. As portas das carruagens do correio estavam em suas dobradiças, os estofados estavam no lugar, as partes de ferro estavam como novas, a pintura estava restaurada, as lanternas, acesas, havia almofadas e capotes em cada boleia; carregadores atiravam pacotes nos compartimentos de carga, guardas acondicionavam malotes de cartas, cavalariços jogavam baldes d’água nas rodas renovadas; inúmeros homens corriam de um lado para o outro, firmando os timões em cada carruagem; passageiros chegavam, valises eram alcançadas, cavalos eram atrelados; em resumo, estava muito claro que cada carruagem ali partiria logo. Cavalheiros, o meu tio, ao deparar com tudo isso, arregalou tanto os olhos que, até o último instante de sua vida, ele costumava se perguntar como havia conseguido fechá-los de novo. “– Muito bem! – disse uma voz, e o meu tio sentiu a mão de alguém pousar em seu ombro. – O seu lugar está reservado. É melhor entrar. “– O meu lugar, reservado? – disse meu tio, virando-se. “– Sim, claro. “O meu tio, cavalheiros, não conseguiu dizer nada; estava por demais atônito. O mais esquisito de tudo foi que, embora houvesse tamanha multidão, e embora novos rostos estivessem aparecendo a todo instante, não havia como saber de onde vinham. Pareciam surgir, de uma maneira estranha, do chão, ou do ar, e desapareciam da mesma maneira. Quando um carregador colocou a bagagem do meu tio no coche e recebeu o pagamento, deu meia-volta e sumiu; e, antes que o meu tio começasse a se perguntar o que havia sido feito dele, outros seis apareceram, arrastando-se sob o peso dos volumes que pareciam grandes o suficiente para esmagá-los. Os passageiros também estavam vestidos de forma tão bizarra! Casacões enormes e compridos, largos, de amarrar com cordões, com grandes punhos e sem colarinhos; e perucas, cavalheiros – grandes perucas convencionais, com um laço atrás. O meu tio não entendia nada. “– E então, você vai entrar? – disse a pessoa que havia falado com o meu tio antes. “Ele estava vestido como um guarda do correio, com uma peruca na cabeça e um casaco de punhos imensos, e tinha uma lanterna numa das mãos e um enorme bacamarte na outra, que ele estava preparando para colocar no pequeno baú de armas. “– Você vai entrar, Jack Martin? – disse o guarda, iluminando com a lanterna o rosto do meu tio. “– Ei! – disse o meu tio, recuando um ou dois passos. – Que intimidades são essas? “– É assim que está na lista de passageiros – respondeu o guarda. “– Não está escrito um ‘senhor’ antes do nome? – disse o meu tio. Porque ele sentiu, cavalheiros, que ser chamado por um guarda do qual ele não conhecia de Jack Martin era uma liberdade que os Correios não aprovariam se soubessem. “– Não, não está – replicou o guarda, seco. “– O bilhete está pago? – perguntou o meu tio.
“– É claro que está – respondeu o guarda. “– Está pago, não é? – disse o meu tio. – Então, lá vamos nós! Qual carruagem? “ – Essa aí – disse o guarda, apontando para uma carruagem antiquada do correio Edimburgo-Londres, que estava com o estribo abaixado e a porta aberta. – Espere! Os outros passageiros estão chegando. Eles embarcam primeiro. “Enquanto o guarda falava, de repente apareceu, bem à frente do meu tio, um jovem cavalheiro numa peruca empoada e num casacão azul-celeste com debrum prateado, forrado com entretela, que descia bem rodado e bem armado abaixo da cintura. Tiggin & Welps estava no ramo de morins estampados e tecidos para coletes, cavalheiros, e, assim, o meu tio reconheceu todos os tecidos na mesma hora. Ele vestia calções que desciam pouco abaixo dos joelhos e um tipo de polainas enroladas sobre as meias de seda, e ainda sapatos de fivela; tinha babados nos punhos, um chapéu de três pontas na cabeça e uma adaga comprida em seu flanco. A fralda do colete descia até a metade das coxas, e a ponta da gravata alcançava a cintura. A passos largos e pomposos, aproximou-se da porta da carruagem, tirou o chapéu e segurou-o acima da cabeça com o braço esticado – ao mesmo tempo erguendo no ar o seu dedo mínimo, como algumas pessoas afetadas fazem ao tomarem uma xícara de chá. Então ele juntou os pés e fez uma pequena e solene reverência, e depois estendeu a mão esquerda. O meu tio estava prestes a dar um passo à frente e apertála, animado, quando percebeu que essas atenções eram dirigidas não para ele, mas para uma moça que recém havia surgido próximo aos degraus, trajada num vestido de veludo verde, fora de moda, de cintura espartilhada e corpete. Não usava touca, cavalheiros, mas a cabeça estava encoberta por um capuz de seda preta, e quando, por um momento, ela olhou em torno ao se preparar para subir na carruagem, revelou um rosto que tão belo o meu tio nunca vira igual – nem mesmo em pinturas. Ela entrou na carruagem, arrebanhando o vestido com uma das mãos, e, como o meu tio costumava jurar de pés juntos quando contava a história, não teria acreditado na existência de pés e pernas tão perfeitos se não os tivesse visto com os próprios olhos. “Porém, nesse único vislumbre daquele belo rosto, o meu tio percebeu que a moça lançou-lhe um olhar de súplica, e que parecia assustada e angustiada. Reparou, também, que o rapaz da peruca empoada, não obstante sua demonstração de galanteria tão correta e ilustre, agarrou com força o pulso da moça ao ajudá-la a entrar, e seguiu-a de imediato. Pertencia ao grupo um sujeito extremamente mal-encarado, com uma apertada peruca castanha e um traje cor de ameixa, portando uma espada enorme e botas que lhe chegavam até os quadris; quando ele se sentou ao lado da moça, que se encolheu num canto com a aproximação dele, o meu tio confirmou a sua primeira impressão de que algo sinistro e misterioso estava acontecendo, ou, como ele sempre dizia a si mesmo, que ‘algo não estava cheirando bem’. É mesmo de surpreender o quão rápido ele se convenceu a proteger a moça de qualquer perigo, caso ela precisasse de proteção. “– Morte e relâmpago! – exclamou o jovem cavalheiro, deitando a mão à adaga, quando o meu tio entrou na carruagem. “– Sangue e trovão! – bradou o outro cavalheiro. “Com isso, sacou da espada e deu uma estocada na direção de meu tio, sem mais cerimônias. O meu tio não portava armas, mas, com grande destreza, arrancou o chapéu de três pontas da cabeça do mal-encarado e, recebendo a ponta da espada através da copa do chapéu, apertou a lâmina e segurou-a firme. “– Apunhale-o por trás! – gritou o mal-encarado para seu companheiro, enquanto lutava para recuperar a espada. “– É melhor ele nem tentar – gritou o meu tio, mostrando o salto de um de seus sapatos, de forma ameaçadora. – Chuto a sua cabeça e lhe faço espirrar os miolos, se é que os tem; se não tem, quebro-lhe o crânio. “Naquele instante, empregando toda a sua força, o meu tio, com um puxão violento, arrancou a espada do mal-encarado e arremessou-a pela janela da carruagem, com o que o cavalheiro mais jovem vociferou: “– Morte e relâmpago! – de novo, e colocou ferozmente a mão no punho da adaga, mas sem chegar a sacá-la. “Talvez, cavalheiros, como o meu tio costumava dizer com um sorriso, talvez ele estivesse com medo de assustar a moça. “– Agora, cavalheiros – disse o meu tio, tomando, decidido, o seu assento –, eu prefiro não ver morte alguma, com ou sem relâmpago, na presença de uma dama, e já tivemos confusão e barulho suficientes para uma jornada; assim, por favor, vamos sentar em nossos lugares como pessoas civilizadas. Aqui, guarda, pegue o canivete do cavalheiro. “Tão logo o meu tio pronunciou essas palavras, o guarda apareceu à janela da carruagem, com a espada do cavalheiro na mão. Ele ergueu a lanterna e, enquanto devolvia a espada, lançou um olhar sério ao meu tio; e, com a ajuda da luz, o meu tio enxergou, para sua grande surpresa, que um enxame de guardas do correio chegou à janela, e todos olhavam seriamente para ele. Em toda a sua vida, nunca tinha visto tamanho mar de caras brancas, corpos vermelhos e olhos sérios. “Meu tio pensou que aquela era a coisa mais estranha que já lhe acontecera. “– Permita-me devolver-lhe o seu chapéu, senhor. “O mal-encarado recebeu seu chapéu de três pontas em silêncio, olhou com ar indagador o buraco no meio e, por fim, enfiou-o no topo de sua peruca, com uma solenidade que ficou um tanto prejudicada pelo espirro violento que ele deu e arrancou-lhe o chapéu do lugar. “– Tudo certo! – gritou o guarda com a lanterna, subindo no seu pequeno assento na parte traseira. “E lá se foram eles. O meu tio espiou pela janela da carruagem, ao saírem do pátio, e observou que as outras carruagens, completas, com cocheiros, guardas, cavalos e passageiros, estavam dando voltas e mais voltas, num trote lento de umas cinco milhas por hora. O meu tio ferveu de indignação, cavalheiros. Sendo homem do comércio, ele achava que não se podia ficar brincando com os malotes do correio e resolveu enviar uma petição sobre o assunto à sede dos Correios, tão logo chegasse a Londres. “Naquela hora, contudo, os pensamentos dele estavam ocupados com a moça, sentada no canto mais afastado da carruagem, o rosto bem encoberto pelo capuz; o cavalheiro do casaco azul-celeste estava sentado à frente dela; o outro homem, do traje cor de ameixa, ao lado da moça; e os dois observando-a com atenção. Ao mínimo movimento da moça, o meu tio podia escutar o mal-encarado tocar com a mão na espada e podia dizer, pela respiração do outro (estava tão escuro que não era possível ver seu rosto), que ele seria capaz de devorá-la com uma só bocada. Isso atiçou o meu tio ainda mais, e ele decidiu, não importava o que acontecesse, ir até o fim daquilo para ver no que dava. Tinha uma grande admiração por olhos brilhantes e rostos meigos, e pernas e pés bonitos – em resumo, ele gostava de tudo nas mulheres. É mal de família, cavalheiros – eu também gosto. “Muitos foram os subterfúgios que o meu tio pôs em prática a fim de atrair a atenção da moça ou, na pior das hipóteses, puxar conversa com os misteriosos cavalheiros. Todas as tentativas foram em vão; os cavalheiros recusavam-se a falar, e a moça não ousava. Ele colocava a cabeça para fora da janela de vez em quando e berrava para saber por que não iam mais rápido. Mas gritou até ficar rouco; ninguém prestou-lhe a mínima atenção. Ele se recostou no assento e pensou no belo rosto, e nos pés pernas. Isso teve melhor resultado; fez o tempo passar e impediu-o de ficar imaginando para onde estava indo e como havia se metido naquela situação tão esquisita. Não que isso fosse preocupá-lo muito, de qualquer forma – se existia um camarada bem livre e solto, errante e despreocupado, esse era o meu tio, cavalheiros. “De repente, a carruagem estacou. “– Ei! – disse o meu tio. – O que foi agora? “– Desçam aqui – disse o guarda, baixando os degraus. “– Aqui? – gritou o meu tio. “– Aqui – replicou o guarda. “– Eu não vou fazer nada disso – disse o meu tio. “– Muito bem, então fique aí parado – disse o guarda. “– E fico mesmo – disse o meu tio. “– Faça isso – disse o guarda. “Os outros passageiros haviam acompanhado esse colóquio com grande atenção e, descobrindo que o meu tio estava determinado a não apear, o homem mais novo forçou a passagem e ajudou a moça a sair. Naquele momento, o mal-encarado estava inspecionando o furo na copa do chapéu de três pontas. Quando a moça passou, deixou cair uma das luvas na mão do meu tio e sussurrou, suave, com os lábios tão perto do seu rosto que ele pôde sentir o hálito quente no nariz, uma única palavra: ‘Socorro’. Cavalheiros, o meu tio saiu da carruagem num pulo, com tanta violência que a fez balançar nas molas de novo. “– Ah! Você pensou melhor, não foi? – disse o guarda, ao ver o meu tio fora da carruagem. “O meu tio olhou para o guarda por alguns segundos, pensando se não seria melhor arrancar o bacamarte dele, dar um tiro na cara do homem da espada, dar uma bordoada na cabeça do outro com a coronha, raptar a moça e sumir na fumaça. Pensando melhor, entretanto, descartou esse plano, por ser de execução um tanto melodramática, e seguiu os dois homens misteriosos que, mantendo a moça no meio deles, estavam agora entrando numa casa velha, à frente da qual a carruagem havia estacionado. Eles entraram pelo passeio, e o meu tio foi atrás. “De todos os lugares arruinados e desoladores que o meu tio já vira, esse foi o pior. Parecia ter sido uma grande casa de entretenimento em outros tempos, mas o telhado cedera em vários pontos, e as escadas eram íngremes, irregulares e quebradas. Havia uma enorme lareira na sala onde entraram, e a saída para a chaminé estava preta de fuligem, mas naquele momento não havia nenhuma chama acesa acolhedora. O pó branco e leve de lenha queimada ainda estava espalhado na lareira, porém as pedras estavam frias, e tudo estava sombrio e melancólico. “– Bem – disse o meu tio, enquanto olhava ao seu redor –, uma carruagem do correio viajando a uma velocidade de seis milhas e meia por hora e parando por tempo indefinido num buraco como este é um procedimento bastante irregular, calculo eu. Isso precisa vir a público. Vou escrever aos jornais. “O meu tio disse isso em voz bem alta, de um modo expansivo e sem reservas, com o propósito de puxar conversa com os dois estranhos, se pudesse. Porém, nenhum dos dois lhe deu maior atenção, só alguns murmúrios entre eles e olhares carrancudos para o meu tio. A moça estava a um canto mais distante da sala, e uma vez ela se atreveu a fazer um aceno de mão, como se estivesse pedindo a ajuda do meu tio. “Enfim, os dois estranhos aproximaram-se um pouco, e a conversa começou a sério. “– Suponho que o senhor não saiba que esta é uma sala particular, não é, camarada? – disse o cavalheiro em azul-celeste. “– Não, não sei, camarada – respondeu o meu tio. – Só que, se esta é uma sala particular, reservada especialmente para esta ocasião, imagino que o salão público deva ser então uma sala muito confortável – e, ao falar isso, o meu tio mediu com os olhos o cavalheiro de forma tão precisa que a Tiggin & Welps poderia fornecer-lhe morim estampado na medida exata para um novo traje, nem uma polegada a mais ou a menos, somente por aquela avaliação. “– Saia da sala – disseram os dois homens em uníssono, agarrando suas espadas. “– Hã? – disse o meu tio, como se não compreendesse o que eles queriam dizer. “– Saia da sala ou o senhor é um homem morto – disse o mal encarado da espada grande, sacando-a na mesma hora e brandindo-a no ar. “– Vamos acabar com ele! – gritou o cavalheiro em azul-celeste, sacando a adaga também e recuando dois ou três metros. – Vamos acabar com ele! “A moça soltou um grito agudo. “Ora, o meu tio sempre foi notório pela grande ousadia e pela grande presença de espírito. Todo o tempo em que parecia tão indiferente ao que acontecia, ele estava procurando, furtivo, por alguma coisa para arremessar ou alguma arma de defesa e, no exato momento em que as espadas foram sacadas, vislumbrou, encostado no canto da lareira, um florete antigo com guarda-mão, numa bainha enferrujada. De um pulo, meu tio pegou-o na mão, sacou-o, floreou-o galantemente sobre a cabeça, gritou para a moça sair de perto, jogou a cadeira em cima do homem de azul-celeste e a bainha sobre o homem de cor de ameixa e, aproveitando-se da confusão, arremeteu contra eles, de qualquer jeito. “Cavalheiros, há uma história antiga – mas nem por isso menos verdadeira – sobre um jovem e elegante cavalheiro irlandês que, ao ser perguntado se era capaz de tocar a rabeca, respondeu claro que sim, mas não podia afirmar com certeza, pois nunca havia tentado. Isso se aplica ao meu tio e à sua esgrima. Ele nunca empunhara antes uma espada, exceto naquela vez em que interpretou o Ricardo III de Shakespeare numa encenação para conhecidos, ocasião em que ficou combinado que Richmond o trespassaria pelas costas, sem sinal algum de luta. Mas, lá estava ele, golpeando e atacando dois experientes espadachins: lancetando e se defendendo, investindo e retalhando e se comportando da maneira mais viril e ágil possível, embora até aquele momento ele não soubesse que possuía sequer a mínima noção de esgrima. O que apenas confirma o velho ditado: um homem não sabe do que é capaz até tentar, cavalheiros. “O barulho da luta era medonho; cada um dos três combatentes blasfemando como um cavalariano, e as espadas tilintando com ruído tal que parecia o barulho de todas as facas e lâminas do mercado de Newport entrechocando-se ao mesmo tempo. Quando tudo estava no auge, a moça (muito provavelmente para encorajar o meu tio) puxou o capuz para trás e revelou uma fisionomia de beleza tão estonteante que ele teria enfrentado um pelotão para ganhar um sorriso dela – e então morrer. Ele já estava fazendo proezas, mas então começou a lutar como um gigante enfurecido. “Naquele exato momento, o cavalheiro em azul-celeste virou-se. Ao ver a moça com o rosto descoberto, soltou uma exclamação de raiva e de ciúmes e, virando sua arma contra o belo seio feminino, dirigiu uma estocada ao coração dela, o que fez o meu tio dar um grito de apreensão, fazendo o prédio tremer. A moça deu um passo ágil para o lado e, roubando a espada da mão do jovem antes que ele recuperasse o equilíbrio, levou-o contra a parede e cravou-o nos painéis de lambri, bem cravado, até o cabo da espada. Foi um exemplo esplêndido. O meu tio, com um forte grito de triunfo e uma força irresistível, fez o seu adversário recuar na mesma direção e, enfiando o velho florete bem no centro de uma grande flor vermelha na estampa do colete dele, pregou-o na parede ao lado de seu amigo; lá ficaram ambos, cavalheiros, remexendo braços e pernas, em agonia, como bonecos de lojas de brinquedo movidos por um pedaço de barbante. O meu tio sempre dizia, depois, que essa era, sem dúvida, uma das maneiras mais garantidas que conhecia para se livrar de um inimigo; mas era suscetível de objeção por ser dispendiosa, já que envolvia a perda de uma espada para cada homem eliminado. “– A carruagem! A carruagem! – gritou a moça, correndo até o meu tio e jogando os belos braços ao redor do pescoço dele. – Talvez dê para escapar. “– Talvez! – gritou o meu tio. – Por quê, minha querida? Não há mais ninguém para matar, não é? “O meu tio estava muito decepcionado, cavalheiros, pois imaginava que, após aquela matança, um pouquinho de namoro viria a calhar, nem que fosse para mudar de assunto. “– Não temos um minuto a perder – disse a moça. – Ele (apontando para o jovem cavalheiro de azul-celeste) é filho único do poderoso marquês de Filletoville. “– Ora, então, minha querida, receio que ele nunca vá receber o título – disse o meu tio, com um olhar gélido para o jovem cavalheiro fixado à parede, debatendo-se como um escaravelho, do modo que descrevi. – Você interrompeu a sucessão, meu amor. “– Eu fui arrancada de minha casa e da companhia de meus amigos por estes bandidos – falou a moça, com o rosto brilhando de indignação. – Aquele patife queria casar à força comigo. “– Maldito sem-vergonha! – disse o meu tio, lançando um olhar de extremo desprezo ao herdeiro moribundo de Filletoville. “– Como você pode imaginar pelo que viu – disse a moça –, eles estavam prontos para me matar se eu pedisse socorro a alguém. Se os cúmplices deles nos encontrarem aqui, estamos perdidos. Eles podem chegar a qualquer minuto! A carruagem! “Com essas palavras, dominada pela emoção e pelo esforço de espetar o jovem marquês de Filletoville, ela desfaleceu nos braços do meu tio. Ele a amparou e carregou-a até a porta da casa. Lá estava a carruagem do correio, com quatro cavalos pretos de cola comprida e crinas ondulantes, recém-encilhados; porém, sem cocheiro, sem guarda, nem ao menos um cavalariço, para comandar os cavalos. “Cavalheiros, espero não ser injusto à memória do meu tio ao expressar a minha opinião: embora fosse solteiro convicto, ele teve algumas senhoras nos braços antes dessa oportunidade; acredito, mesmo, que cultivava o hábito de beijar as moças que servem em bares; e fiquei sabendo que, por uma ou duas vezes, testemunhas confiáveis viram-no abraçando uma dona de estalagem de um modo deveras saliente. Menciono o fato para mostrar o quão incomum essa linda moça deve ter sido, para afetar o meu tio do modo que afetou; ele dizia que, quando ela voltou a si, os cabelos escuros e compridos roçando o seu braço, os belos olhos escuros fixando-se no seu rosto, ele se sentiu tão estranho e nervoso que suas pernas começaram a tremer. Porém, quem consegue fitar um doce e suave par de olhos escuros sem se sentir esquisito? Eu não consigo, cavalheiros. Tenho medo de fitar certos olhos que conheço, e essa é a pura verdade. “– Você nunca vai me abandonar – sussurrou a jovem. “– Nunca – disse o meu tio. E ele falava sério. “– Meu querido salvador! – exclamou a moça. – Meu querido, gentil e corajoso salvador! “– Não – disse o meu tio, interrompendo-a. “– Por quê? – indagou a moça. “– Porque a sua boca fica tão linda quando você fala – respondeu o meu tio –, que receio deixar de ser gentil e beijá-la. “A moça levantou a mão como para impedir o meu tio de fazer isso, e disse... ou melhor, não disse nada – sorriu. Quando você está olhando para lábios dos mais deliciosos do mundo, e presencia eles se abrirem com delicadeza num sorriso travesso – se você está muito perto deles, e não há ninguém mais por perto –, você não tem como atestar a admiração pela cor e pela forma desses lábios a não ser beijando-os imediatamente. Foi o que o meu tio fez, e eu o respeito por isso. “– Escute! – irrompeu a moça. – Barulho de rodas e cavalos! “– É verdade – disse o meu tio, escutando. “Ele tinha bom ouvido para rodas e tropel de cascos, mas era tamanha a barulheira de carros e cavalos ao longe, vindo na direção deles, que era impossível calcular quantos. Parecia o som de cinquenta carros, puxados por seis cavalos de raça cada um. “– Estão atrás de nós! – gritou a moça, apertando as mãos. – Estão atrás de nós. Você é a minha única esperança! “Era tamanha a expressão de terror em seu belo rosto que a decisão do meu tio foi imediata. Ele a colocou dentro da carruagem, disse para não ficar assustada, beijou-a nos lábios mais uma vez, aconselhou que fechasse a janela para evitar o ar frio e subiu à boleia. “– Pare, amor – gritou a moça. “– O que foi? – disse o meu tio, falando da boleia. “– Quero falar com você – disse a moça –, só uma palavrinha. Só uma, meu bem. “– Devo descer? – perguntou o meu tio. “A moça não respondeu, mas sorriu de novo. E que sorriso, cavalheiros! Foi melhor que o outro, sem dúvida. O meu tio desceu do seu poleiro num piscar de olhos. “– O que foi, minha querida? – disse o meu tio, olhando para dentro da carruagem, pela janela. “A moça, na mesma hora, inclinou-se para a frente, e o meu tio pensou que ela estava ainda mais bonita que antes. Ele estava muito perto dela nesse instante, cavalheiros, então ele devia saber. “– O que foi, querida? – disse o meu tio.
“– Você promete que nunca vai amar ninguém, apenas eu? Promete que nunca vai se casar com outra, só comigo? – disse a moça. “O meu tio fez um juramento solene de que nunca se casaria com outra mulher, e a moça recuou e fechou a janela. Ele galgou à boleia, juntou os cotovelos ao corpo, ajustou as rédeas, agarrou o chicote que estava sobre o teto do carro, estalou-o em um dos cavalos dianteiros, e lá se foram os quatro cavalos pretos de colas compridas e crinas ondulantes, a boas quinze milhas inglesas por hora, com a antiga carruagem do correio atrás deles. Uau! Que disparada! “O barulho atrás deles aumentava. Quanto mais rápido ia a antiga carruagem, mais rápido os perseguidores – homens, cavalos, cães – aliavam-se à perseguição. O barulho era assustador, porém, acima de tudo, erguia-se a voz da moça, incitando o meu tio, aos gritos agudos de ‘Mais rápido! Mais rápido!’. “Eles passavam pelas árvores escuras como plumas voariam antes de um furacão. Casas, portões, igrejas, montes de feno – eles passavam por objetos de toda sorte com a velocidade e o barulho das águas de uma represa subitamente rompida. Ainda assim, o barulho da perseguição aumentava, e, ainda assim, o meu tio podia escutar os gritos ensandecidos da moça: ‘Mais rápido! Mais rápido!’. “O meu tio manejava o chicote e as rédeas, e os cavalos voavam em frente até ficarem brancos de espuma, e ainda o barulho atrás deles crescia, e ainda a moça gritava: ‘Mais rápido! Mais rápido!’. No calor do momento, o meu tio bateu o pé com força no piso da boleia e... descobriu que era um dia cinzento, e que estava sentado no pátio do fabricante de rodas, no assento do cocheiro de uma carruagem do correio inglesa, tiritando com o frio úmido e batendo os pés no chão para esquentá-los! Desceu e procurou, ansioso, dentro do carro, pela moça bonita. Ai de mim! A carruagem não tinha porta nem assento. Era só uma casca. “É claro que o meu tio sabia muito bem que tinha algum mistério naquilo tudo, e que tudo havia acontecido da forma exata como ele costumava contar. Ele se manteve fiel ao juramento que fizera à bela moça, recusando, por causa dela, várias donas de estalagem casadoiras e, por fim, morreu solteiro. Ele sempre dizia que havia descoberto uma coisa curiosa, por um mero acaso, ao ter pulado o tapume: que os fantasmas das carruagens do correio, dos cavalos, dos guardas, dos cocheiros e dos passageiros realizavam viagens regulares todas as noites. Ele costumava acrescentar que acreditava ter sido o único ser vivo já levado como passageiro numa dessas excursões. E eu acho que ele estava certo, cavalheiros – pelo menos nunca ouvi falar de mais ninguém.”
1 Personagem do Punch & Judy Show, teatro de bonecos popular em Londres na primeira metade do século XIX. (N.T.)
2 Popular canção escocesa cuja letra foi escrita em 1789 pelo poeta Robert Burns (1759-1796). (N.E.)
Meu tio, cavalheiros,” disse o caixeiro-viajante, “foi um dos sujeitos mais divertidos, mais agradáveis e mais espertos que já existiram. Eu gostaria que os senhores o tivessem conhecido, cavalheiros. Pensando bem, cavalheiros, eu não gostaria que os senhores o tivessem conhecido, pois, nesse caso, os senhores estariam todos, a esta altura, provavelmente, se não mortos, na melhor das hipóteses tão próximos da morte que seriam obrigados a ficar em casa e a desistir do convívio social: o que teria me privado do prazer inenarrável de dirigir a palavra aos senhores neste momento. Cavalheiros, eu gostaria que seus pais e suas mães tivessem conhecido o meu tio. Eles o teriam admirado muito, em especial suas honoráveis mães; eu sei que elas teriam gostado dele. Se eu tivesse que destacar apenas duas entre as numerosas virtudes que adornavam o seu caráter, escolheria a mistura de ponche que ele fazia e a canção que ele entoava depois da ceia. Perdoem me demorar nessas melancólicas recordações daqueles que já partiram; não é todo dia que se encontra um homem de valor como o meu tio. “Sempre considerei um grande traço do caráter do meu tio, cavalheiros, o fato de ele ter sido companheiro e íntimo amigo de Tom Smart, da grande firma de Bilson & Slum, na rua Cateaton, no centro financeiro de Londres. Meu tio fazia cobranças para a Tiggin & Welps, mas por um bom tempo ele percorria quase o mesmo trajeto de Tom; e, logo na primeira noite em que os dois se conheceram, meu tio simpatizou com Tom, e Tom simpatizou com meu tio. Menos de meia hora depois que se conheceram, os dois apostaram um chapéu novo para ver quem preparava o melhor ponche e quem bebia um litro mais rápido. O ponche do meu tio foi julgado o mais saboroso, mas, na rapidez de beber, Tom Smart superou-o por metade de um gole. Eles entornaram outro litro cada um à saúde de ambos, e desde então ficaram amigos do peito. Há um pouco de destino nessas coisas, cavalheiros; não podemos evitar. “Na aparência física, o meu tio era um tanto mais baixo que a altura mediana; era, também, um pouquinho mais atarracado que a média, e o seu rosto, talvez um pouco mais vermelho. Tinha o rosto mais alegre que os senhores já viram, cavalheiros: um pouco ao estilo de Punch,1 mas com nariz e queixo mais bonitos; os olhos estavam sempre piscando e faiscando de bom humor, e um sorriso – não um sorriso amarelo e inexpressivo, mas um sorriso genuíno, caloroso, cordial, afável – estava sempre estampado em seu semblante. Uma vez foi arremessado do trole e aterrissou de cabeça num marco de milha. Ficou lá, nocauteado e com o rosto tão lanhado pelo cascalho que havia se amontoado ao redor do marco que, nas contundentes palavras do meu tio, se a mãe dele pudesse retornar à terra, ela não o teria reconhecido. Na verdade, quando eu penso no assunto, cavalheiros, tenho certeza que não, pois ela morreu quando o meu tio tinha dois anos e sete meses, e penso que é bem provável que, mesmo sem o cascalho, suas botas de cano alto teriam deixado a boa senhora bem confusa – que dirá o seu alegre rosto vermelho. Porém, ficou lá estirado, e escutei o meu tio contar, muitas vezes, que o homem que o socorreu disse que ele estava sorrindo tão animado como se estivesse indo para uma festa, e que, depois de lhe aplicarem uma sangria, ao se reanimar do desmaio, seus atos reflexos foram: sentar de um pulo na cama, explodir numa gargalhada, beijar a moça que segurava a bacia e pedir costeletas de ovelha e nozes em conserva. Ele adorava nozes em conserva, cavalheiros. Dizia sempre achar que, consumidas sem vinagre, elas realçavam o sabor da cerveja. “A grande jornada de meu tio acontecia no outono, quando ele cobrava dívidas e recebia pedidos, no norte: indo de Londres a Edimburgo, de Edimburgo a Glasgow, de Glasgow de volta a Edimburgo, e dali direto para Londres. Os senhores precisam entender que a segunda visita dele a Edimburgo era para o seu próprio deleite. Ele costumava voltar por uma semana, só para visitar os velhos amigos; e nisso de tomar café da manhã com este, almoçar com aquele, jantar com um terceiro e cear com aquele outro, ele passava uma semana bem atarefada. Não sei se algum dos senhores, cavalheiros, já partilhou de um hospitaleiro, substancial e verdadeiro café da manhã escocês e depois saiu para um almoço leve de uma panelada de ostras, uma dúzia de cervejas e uma dose ou duas de uísque para arrematar. Se os senhores já experimentaram isso, vão concordar comigo que é preciso estômago para depois ainda sair na intenção de jantar e cear. “Mas, abençoados sejam vossos corações e sobrancelhas, o meu tio tirava tudo isso de letra! Estava tão acostumado que, para ele, isso não passava de brincadeira de criança. Ele contava que podia acompanhar o povo de Dundee saindo, em qualquer dia da semana, e voltando para casa sem cambalear; e isso que o povo de Dundee tem estômago tão forte e um ponche tão forte, cavalheiros, que os senhores não encontram igual entre o polo sul e o polo norte. Já ouvi falar de um homem de Glasgow e outro de Dundee competindo na bebedeira por quinze horas de uma sentada só. Os dois ficaram intoxicados, tanto quanto foi possível averiguar, no mesmo instante, mas, afora esse detalhe insignificante, cavalheiros, a bebida não os afetou nem um pouco. “Certa noite, 24 horas antes do horário estipulado para o embarque de volta a Londres, o meu tio deu uma paradinha na casa de um velho amigo seu, um tal de conselheiro Mac-alguma coisa e mais quatro sílabas, que morava na parte antiga de Edimburgo. Havia a mulher do conselheiro e as três filhas do conselheiro e o filho adulto do conselheiro e três ou quatro velhos camaradas escoceses, parcimoniosos, corpulentos e de sobrancelhas grossas, que o conselheiro havia reunido para prestigiar a visita do meu tio e tornar o encontro mais divertido. Foi uma ceia gloriosa. Havia salmão e hadoque defumados, cabeça de cordeiro e um prato de miúdos de cordeiro – um famoso prato escocês, cavalheiros, que, como o meu tio costumava dizer, sempre fazia-o lembrar, ao ser trazido à mesa, a barriga de um cupido –, além de inúmeras outras coisas, das quais esqueci o nome, mas, não obstante, coisas muito saborosas. As mocinhas eram bonitas e simpáticas; a mulher do conselheiro era uma das melhores criaturas que já existiram; e o meu tio estava com ótima disposição. Por consequência disso, as garotas davam risadinhas abafadas, e a velha senhora ria alto, e o conselheiro e os outros sujeitos gargalhavam o tempo inteiro, até ficarem com as bochechas vermelhas. Não lembro bem quantos copos de ponche de uísque cada homem tomou após a ceia, mas sei que, lá por uma hora da madrugada, o filho adulto do conselheiro perdeu os sentidos ao balbuciar o primeiro verso de “Willie brewed a peck o’maut”2 e, tendo sido, da meianoite à uma, o único homem à vista acima do mogno, ocorreu a meu tio que estava quase na hora de pensar em ir embora, especialmente porque eles haviam começado a beber às sete, a fim de que meu tio pudesse retornar para casa a uma hora decente. Porém, pensando que não seria muito educado sair justo àquela hora, meu tio escarrapachou-se na poltrona, misturou outra dose, ergueu-se para propor um brinde à sua própria saúde, discursou para si mesmo de forma elegante e lisonjeira e virou o copo com grande entusiasmo. Apesar disso, ninguém acordou, e então o meu tio tomou mais um gole – puro desta vez, para evitar que o ponche não lhe caísse bem – e, agarrando com violência o seu chapéu, no outro minuto estava na rua. “Quando o meu tio fechou a porta da casa do conselheiro, encontrou uma noite tempestuosa de ventania e, firmando o chapéu na cabeça para evitar que o vento o levasse, enfiou as mãos nos bolsos e, olhando para cima, estudou as condições do tempo. As nuvens flutuavam vertiginosas, a esmo, em frente à lua: numa hora, encobrindo-a inteira; noutra, permitindoa surgir em todo o seu esplendor e espalhar sua luz sobre todos os objetos ao redor para em seguida, atropelando-a de novo, com velocidade crescente, mergulhar tudo na escuridão. ‘Honestamente, assim não vai dar’, disse o meu tio, dirigindo-se ao mau tempo, como se considerasse aquilo uma ofensa pessoal. ‘Não foi isso que eu imaginei para a minha viagem. De jeito nenhum, assim não vai dar’, disse o meu tio, de modo enfático. Tendo repetido isso várias vezes, recuperou o equilíbrio com certa dificuldade – pois, de tanto olhar para o céu, ficara zonzo – e continuou a caminhar, bem alegre. “A casa do conselheiro ficava em Canongate, e o meu tio estava indo para o outro lado da via Leith, uma caminhada de mais de milha. Dos dois lados, projetados contra o céu escuro, erguiam-se esparsos prédios altos e sombrios, com as fachadas escurecidas pelo tempo e janelas que pareciam olhos humanos que foram, com o tempo, se tornando opacos e encovados. Os prédios tinham seis, sete, oito andares, empilhados um em cima do outro, como as crianças fazem com cartas de baralho – arremessando suas sombras escuras sobre o pavimento irregular da rua e deixando a noite escura ainda mais escura. Uns poucos lampiões espalhavam-se aqui e acolá, mas serviam apenas para demarcar a entrada imunda de algum beco estreito, ou para mostrar onde uma escada de uso comum, por voltas íngremes e intricadas, dava para os vários apartamentos acima. Olhando todas essas coisas com o ar de alguém que já as vira vezes demais para, naquele momento, dar-lhes muita atenção, o meu tio caminhava pelo meio da rua, com os polegares nos bolsos do colete, permitindo-se aqui e ali entoar diferentes trechos de canções, cantando e andando com tanto espírito e boa vontade que as pessoas honestas e silenciosas despertavam assustadas de seu primeiro sono e ficavam tiritando na cama até o som esvaecer-se ao longe; quando, convencidas de que era apenas algum beberrão inveterado procurando o caminho de casa, aninhavam-se no calor das cobertas e adormeciam de novo. “Estou sendo detalhista em descrever como o meu tio caminhou pelo meio da rua, com os polegares nos bolsos do colete, cavalheiros, porque, como ele sempre costumava dizer (e com grande razão, também), não há nada de extraordinário nesta história, a menos que os senhores compreendam com exatidão desde o começo que ele não era propenso, de forma alguma, a ideias românticas e fantasiosas. “Cavalheiros, o meu tio caminhava com os polegares nos bolsos do colete, tomando o meio da rua para si e cantando, ora os versos de uma canção de amor, ora os versos de uma canção de bêbado, e, quando se cansou de ambas, assobiou melodiosamente até alcançar a ponte Norte, que, naquele ponto, liga a velha cidade de Edimburgo com a nova. Ali ele parou por um minuto, para olhar as estranhas e irregulares aglomerações de luzes sobrepostas umas as outras, brilhando tão altas ao longe que pareciam estrelas, cintilando, de um lado, a partir dos muros do castelo, e, do outro, no morro Calton, como se elas iluminassem verdadeiros castelos no ar, enquanto, lá embaixo, a velha e pitoresca cidade dormia pesadamente, na tristeza e na escuridão; o palácio e a capela da Santa Cruz, vigiados dia e noite, como um amigo do meu tio dizia, pelo velho trono do rei Artur, elevando-se carrancudo e escuro, como um gênio grosseiro, sobre a velha cidade que cuidava havia tanto tempo. Eu lhes digo, cavalheiros, meu tio parou ali, por um minuto, para olhar ao seu redor; e então, fazendo um elogio ao tempo, que havia clareado um pouco, embora a lua estivesse se pondo, continuou caminhando, tão majestoso quanto antes, mantendo-se no meio da rua com grande dignidade, dando a impressão de que gostaria de se encontrar com alguém que quisesse disputar a posse daquele espaço com ele. Não havia ninguém disposto a contestar sua posição, como ficou demonstrado; e assim ele prosseguiu, com os polegares nos bolsos do colete, como um cordeirinho. “Quando o meu tio alcançou o limite da via Leith, teve de atravessar um grande terreno baldio que o separava da rua curta onde precisava entrar para chegar direto à sua hospedaria. Ora, nesse pedaço de terreno baldio havia, naquela época, um tapume pertencente a um fabricante de rodas, que tinha um contrato com os Correios para a compra de antigas carruagens usadas para transporte de malas postais; e o meu tio, apaixonado que era por carruagens, antigas, novas ou de meia-idade, de súbito teve a ideia de sair do seu caminho sem nenhum outro propósito a não ser espiar, por entre as tábuas, essas carruagens – cerca de uma dúzia delas, lembrava-se de ter visto, aglomeradas num estado de abandono e desmanche, dentro do cercado. O meu tio era o tipo de pessoa entusiasmada e expressiva, cavalheiros; assim, descobrindo que não podia dar uma boa espiada pelas tábuas, ele pulou o tapume e, sentando-se quieto num antigo eixo de roda, começou a contemplar as carruagens do correio com um ar de seriedade. “Devia ter uma dúzia delas, ou podia ser que fosse mais – o meu tio nunca teve certeza quanto a esse ponto e, por ser um homem de escrupulosa veracidade em se tratando de números, não gostava de fazer estimativas –, mas lá estavam elas, todas amontoadas na condição mais desoladora imaginável. As portas tinham sido arrancadas de suas dobradiças e removidas dali; os estofados tinham sido retirados, à exceção de alguns retalhos pendurados aqui e ali por um prego enferrujado; não havia lanternas, os timões tinham há muito desaparecido, os elementos de ferro estavam enferrujados, a pintura estava gasta; o vento assobiava através das fendas do madeiramento posto a nu; e a chuva, que havia se acumulado nas capotas, caía, gota após gota, nos interiores, com um som oco e melancólico. Eram carcaças decadentes de finadas carruagens e, naquele lugar solitário, àquela hora da noite, pareciam deprimentes e lúgubres. “O meu tio descansou a cabeça nas mãos e imaginou a pressa das pessoas ocupadas que haviam chacoalhado, anos antes, naquelas carruagens antigas e que estavam agora tão silenciosas e mudadas quanto elas; imaginou a quantidade de pessoas a quem um desses imprestáveis veículos corroídos havia transportado, noite após noite, anos a fio, no sol e na chuva, a notícia esperada com ansiedade, a remessa de dinheiro aguardada com impaciência, a prometida garantia de saúde e segurança, o repentino anúncio de doença ou de morte. O comerciante, o noivo, a esposa, a viúva, a mãe, o estudante, a própria criança que foi em passos ainda vacilantes até a porta ao ouvir o carteiro batendo – como todos haviam esperado a chegada da velha carruagem! E onde estavam todos eles agora! “Cavalheiros, o meu tio costumava dizer que pensou tudo isso naquela hora, mas eu desconfio de que ele ficou sabendo disso depois, em algum livro, pois declarou, de forma bem clara, que, enquanto ficou sentado sobre o velho eixo de roda, olhando para as deterioradas carruagens do correio, caiu numa espécie de cochilo e foi acordado de repente por duas solenes badaladas de um sino de igreja. Ora, o meu tio nunca teve o raciocínio rápido, e, se ele tivesse pensado em todas essas coisas, tenho certeza de que ele teria demorado até as duas e meia, no mínimo. Sou, portanto, firme em minha opinião, cavalheiros, de que o meu tio caiu naquela espécie de cochilo sem ter pensado em nada. “Seja como for, um sino de igreja bateu as duas horas. O meu tio acordou, esfregou os olhos e saltou, atônito. “Um instante após o relógio bater as duas horas, todo aquele local deserto e quieto transformou-se num cenário de vida e animação extraordinárias. As portas das carruagens do correio estavam em suas dobradiças, os estofados estavam no lugar, as partes de ferro estavam como novas, a pintura estava restaurada, as lanternas, acesas, havia almofadas e capotes em cada boleia; carregadores atiravam pacotes nos compartimentos de carga, guardas acondicionavam malotes de cartas, cavalariços jogavam baldes d’água nas rodas renovadas; inúmeros homens corriam de um lado para o outro, firmando os timões em cada carruagem; passageiros chegavam, valises eram alcançadas, cavalos eram atrelados; em resumo, estava muito claro que cada carruagem ali partiria logo. Cavalheiros, o meu tio, ao deparar com tudo isso, arregalou tanto os olhos que, até o último instante de sua vida, ele costumava se perguntar como havia conseguido fechá-los de novo. “– Muito bem! – disse uma voz, e o meu tio sentiu a mão de alguém pousar em seu ombro. – O seu lugar está reservado. É melhor entrar. “– O meu lugar, reservado? – disse meu tio, virando-se. “– Sim, claro. “O meu tio, cavalheiros, não conseguiu dizer nada; estava por demais atônito. O mais esquisito de tudo foi que, embora houvesse tamanha multidão, e embora novos rostos estivessem aparecendo a todo instante, não havia como saber de onde vinham. Pareciam surgir, de uma maneira estranha, do chão, ou do ar, e desapareciam da mesma maneira. Quando um carregador colocou a bagagem do meu tio no coche e recebeu o pagamento, deu meia-volta e sumiu; e, antes que o meu tio começasse a se perguntar o que havia sido feito dele, outros seis apareceram, arrastando-se sob o peso dos volumes que pareciam grandes o suficiente para esmagá-los. Os passageiros também estavam vestidos de forma tão bizarra! Casacões enormes e compridos, largos, de amarrar com cordões, com grandes punhos e sem colarinhos; e perucas, cavalheiros – grandes perucas convencionais, com um laço atrás. O meu tio não entendia nada. “– E então, você vai entrar? – disse a pessoa que havia falado com o meu tio antes. “Ele estava vestido como um guarda do correio, com uma peruca na cabeça e um casaco de punhos imensos, e tinha uma lanterna numa das mãos e um enorme bacamarte na outra, que ele estava preparando para colocar no pequeno baú de armas. “– Você vai entrar, Jack Martin? – disse o guarda, iluminando com a lanterna o rosto do meu tio. “– Ei! – disse o meu tio, recuando um ou dois passos. – Que intimidades são essas? “– É assim que está na lista de passageiros – respondeu o guarda. “– Não está escrito um ‘senhor’ antes do nome? – disse o meu tio. Porque ele sentiu, cavalheiros, que ser chamado por um guarda do qual ele não conhecia de Jack Martin era uma liberdade que os Correios não aprovariam se soubessem. “– Não, não está – replicou o guarda, seco. “– O bilhete está pago? – perguntou o meu tio.
“– É claro que está – respondeu o guarda. “– Está pago, não é? – disse o meu tio. – Então, lá vamos nós! Qual carruagem? “ – Essa aí – disse o guarda, apontando para uma carruagem antiquada do correio Edimburgo-Londres, que estava com o estribo abaixado e a porta aberta. – Espere! Os outros passageiros estão chegando. Eles embarcam primeiro. “Enquanto o guarda falava, de repente apareceu, bem à frente do meu tio, um jovem cavalheiro numa peruca empoada e num casacão azul-celeste com debrum prateado, forrado com entretela, que descia bem rodado e bem armado abaixo da cintura. Tiggin & Welps estava no ramo de morins estampados e tecidos para coletes, cavalheiros, e, assim, o meu tio reconheceu todos os tecidos na mesma hora. Ele vestia calções que desciam pouco abaixo dos joelhos e um tipo de polainas enroladas sobre as meias de seda, e ainda sapatos de fivela; tinha babados nos punhos, um chapéu de três pontas na cabeça e uma adaga comprida em seu flanco. A fralda do colete descia até a metade das coxas, e a ponta da gravata alcançava a cintura. A passos largos e pomposos, aproximou-se da porta da carruagem, tirou o chapéu e segurou-o acima da cabeça com o braço esticado – ao mesmo tempo erguendo no ar o seu dedo mínimo, como algumas pessoas afetadas fazem ao tomarem uma xícara de chá. Então ele juntou os pés e fez uma pequena e solene reverência, e depois estendeu a mão esquerda. O meu tio estava prestes a dar um passo à frente e apertála, animado, quando percebeu que essas atenções eram dirigidas não para ele, mas para uma moça que recém havia surgido próximo aos degraus, trajada num vestido de veludo verde, fora de moda, de cintura espartilhada e corpete. Não usava touca, cavalheiros, mas a cabeça estava encoberta por um capuz de seda preta, e quando, por um momento, ela olhou em torno ao se preparar para subir na carruagem, revelou um rosto que tão belo o meu tio nunca vira igual – nem mesmo em pinturas. Ela entrou na carruagem, arrebanhando o vestido com uma das mãos, e, como o meu tio costumava jurar de pés juntos quando contava a história, não teria acreditado na existência de pés e pernas tão perfeitos se não os tivesse visto com os próprios olhos. “Porém, nesse único vislumbre daquele belo rosto, o meu tio percebeu que a moça lançou-lhe um olhar de súplica, e que parecia assustada e angustiada. Reparou, também, que o rapaz da peruca empoada, não obstante sua demonstração de galanteria tão correta e ilustre, agarrou com força o pulso da moça ao ajudá-la a entrar, e seguiu-a de imediato. Pertencia ao grupo um sujeito extremamente mal-encarado, com uma apertada peruca castanha e um traje cor de ameixa, portando uma espada enorme e botas que lhe chegavam até os quadris; quando ele se sentou ao lado da moça, que se encolheu num canto com a aproximação dele, o meu tio confirmou a sua primeira impressão de que algo sinistro e misterioso estava acontecendo, ou, como ele sempre dizia a si mesmo, que ‘algo não estava cheirando bem’. É mesmo de surpreender o quão rápido ele se convenceu a proteger a moça de qualquer perigo, caso ela precisasse de proteção. “– Morte e relâmpago! – exclamou o jovem cavalheiro, deitando a mão à adaga, quando o meu tio entrou na carruagem. “– Sangue e trovão! – bradou o outro cavalheiro. “Com isso, sacou da espada e deu uma estocada na direção de meu tio, sem mais cerimônias. O meu tio não portava armas, mas, com grande destreza, arrancou o chapéu de três pontas da cabeça do mal-encarado e, recebendo a ponta da espada através da copa do chapéu, apertou a lâmina e segurou-a firme. “– Apunhale-o por trás! – gritou o mal-encarado para seu companheiro, enquanto lutava para recuperar a espada. “– É melhor ele nem tentar – gritou o meu tio, mostrando o salto de um de seus sapatos, de forma ameaçadora. – Chuto a sua cabeça e lhe faço espirrar os miolos, se é que os tem; se não tem, quebro-lhe o crânio. “Naquele instante, empregando toda a sua força, o meu tio, com um puxão violento, arrancou a espada do mal-encarado e arremessou-a pela janela da carruagem, com o que o cavalheiro mais jovem vociferou: “– Morte e relâmpago! – de novo, e colocou ferozmente a mão no punho da adaga, mas sem chegar a sacá-la. “Talvez, cavalheiros, como o meu tio costumava dizer com um sorriso, talvez ele estivesse com medo de assustar a moça. “– Agora, cavalheiros – disse o meu tio, tomando, decidido, o seu assento –, eu prefiro não ver morte alguma, com ou sem relâmpago, na presença de uma dama, e já tivemos confusão e barulho suficientes para uma jornada; assim, por favor, vamos sentar em nossos lugares como pessoas civilizadas. Aqui, guarda, pegue o canivete do cavalheiro. “Tão logo o meu tio pronunciou essas palavras, o guarda apareceu à janela da carruagem, com a espada do cavalheiro na mão. Ele ergueu a lanterna e, enquanto devolvia a espada, lançou um olhar sério ao meu tio; e, com a ajuda da luz, o meu tio enxergou, para sua grande surpresa, que um enxame de guardas do correio chegou à janela, e todos olhavam seriamente para ele. Em toda a sua vida, nunca tinha visto tamanho mar de caras brancas, corpos vermelhos e olhos sérios. “Meu tio pensou que aquela era a coisa mais estranha que já lhe acontecera. “– Permita-me devolver-lhe o seu chapéu, senhor. “O mal-encarado recebeu seu chapéu de três pontas em silêncio, olhou com ar indagador o buraco no meio e, por fim, enfiou-o no topo de sua peruca, com uma solenidade que ficou um tanto prejudicada pelo espirro violento que ele deu e arrancou-lhe o chapéu do lugar. “– Tudo certo! – gritou o guarda com a lanterna, subindo no seu pequeno assento na parte traseira. “E lá se foram eles. O meu tio espiou pela janela da carruagem, ao saírem do pátio, e observou que as outras carruagens, completas, com cocheiros, guardas, cavalos e passageiros, estavam dando voltas e mais voltas, num trote lento de umas cinco milhas por hora. O meu tio ferveu de indignação, cavalheiros. Sendo homem do comércio, ele achava que não se podia ficar brincando com os malotes do correio e resolveu enviar uma petição sobre o assunto à sede dos Correios, tão logo chegasse a Londres. “Naquela hora, contudo, os pensamentos dele estavam ocupados com a moça, sentada no canto mais afastado da carruagem, o rosto bem encoberto pelo capuz; o cavalheiro do casaco azul-celeste estava sentado à frente dela; o outro homem, do traje cor de ameixa, ao lado da moça; e os dois observando-a com atenção. Ao mínimo movimento da moça, o meu tio podia escutar o mal-encarado tocar com a mão na espada e podia dizer, pela respiração do outro (estava tão escuro que não era possível ver seu rosto), que ele seria capaz de devorá-la com uma só bocada. Isso atiçou o meu tio ainda mais, e ele decidiu, não importava o que acontecesse, ir até o fim daquilo para ver no que dava. Tinha uma grande admiração por olhos brilhantes e rostos meigos, e pernas e pés bonitos – em resumo, ele gostava de tudo nas mulheres. É mal de família, cavalheiros – eu também gosto. “Muitos foram os subterfúgios que o meu tio pôs em prática a fim de atrair a atenção da moça ou, na pior das hipóteses, puxar conversa com os misteriosos cavalheiros. Todas as tentativas foram em vão; os cavalheiros recusavam-se a falar, e a moça não ousava. Ele colocava a cabeça para fora da janela de vez em quando e berrava para saber por que não iam mais rápido. Mas gritou até ficar rouco; ninguém prestou-lhe a mínima atenção. Ele se recostou no assento e pensou no belo rosto, e nos pés pernas. Isso teve melhor resultado; fez o tempo passar e impediu-o de ficar imaginando para onde estava indo e como havia se metido naquela situação tão esquisita. Não que isso fosse preocupá-lo muito, de qualquer forma – se existia um camarada bem livre e solto, errante e despreocupado, esse era o meu tio, cavalheiros. “De repente, a carruagem estacou. “– Ei! – disse o meu tio. – O que foi agora? “– Desçam aqui – disse o guarda, baixando os degraus. “– Aqui? – gritou o meu tio. “– Aqui – replicou o guarda. “– Eu não vou fazer nada disso – disse o meu tio. “– Muito bem, então fique aí parado – disse o guarda. “– E fico mesmo – disse o meu tio. “– Faça isso – disse o guarda. “Os outros passageiros haviam acompanhado esse colóquio com grande atenção e, descobrindo que o meu tio estava determinado a não apear, o homem mais novo forçou a passagem e ajudou a moça a sair. Naquele momento, o mal-encarado estava inspecionando o furo na copa do chapéu de três pontas. Quando a moça passou, deixou cair uma das luvas na mão do meu tio e sussurrou, suave, com os lábios tão perto do seu rosto que ele pôde sentir o hálito quente no nariz, uma única palavra: ‘Socorro’. Cavalheiros, o meu tio saiu da carruagem num pulo, com tanta violência que a fez balançar nas molas de novo. “– Ah! Você pensou melhor, não foi? – disse o guarda, ao ver o meu tio fora da carruagem. “O meu tio olhou para o guarda por alguns segundos, pensando se não seria melhor arrancar o bacamarte dele, dar um tiro na cara do homem da espada, dar uma bordoada na cabeça do outro com a coronha, raptar a moça e sumir na fumaça. Pensando melhor, entretanto, descartou esse plano, por ser de execução um tanto melodramática, e seguiu os dois homens misteriosos que, mantendo a moça no meio deles, estavam agora entrando numa casa velha, à frente da qual a carruagem havia estacionado. Eles entraram pelo passeio, e o meu tio foi atrás. “De todos os lugares arruinados e desoladores que o meu tio já vira, esse foi o pior. Parecia ter sido uma grande casa de entretenimento em outros tempos, mas o telhado cedera em vários pontos, e as escadas eram íngremes, irregulares e quebradas. Havia uma enorme lareira na sala onde entraram, e a saída para a chaminé estava preta de fuligem, mas naquele momento não havia nenhuma chama acesa acolhedora. O pó branco e leve de lenha queimada ainda estava espalhado na lareira, porém as pedras estavam frias, e tudo estava sombrio e melancólico. “– Bem – disse o meu tio, enquanto olhava ao seu redor –, uma carruagem do correio viajando a uma velocidade de seis milhas e meia por hora e parando por tempo indefinido num buraco como este é um procedimento bastante irregular, calculo eu. Isso precisa vir a público. Vou escrever aos jornais. “O meu tio disse isso em voz bem alta, de um modo expansivo e sem reservas, com o propósito de puxar conversa com os dois estranhos, se pudesse. Porém, nenhum dos dois lhe deu maior atenção, só alguns murmúrios entre eles e olhares carrancudos para o meu tio. A moça estava a um canto mais distante da sala, e uma vez ela se atreveu a fazer um aceno de mão, como se estivesse pedindo a ajuda do meu tio. “Enfim, os dois estranhos aproximaram-se um pouco, e a conversa começou a sério. “– Suponho que o senhor não saiba que esta é uma sala particular, não é, camarada? – disse o cavalheiro em azul-celeste. “– Não, não sei, camarada – respondeu o meu tio. – Só que, se esta é uma sala particular, reservada especialmente para esta ocasião, imagino que o salão público deva ser então uma sala muito confortável – e, ao falar isso, o meu tio mediu com os olhos o cavalheiro de forma tão precisa que a Tiggin & Welps poderia fornecer-lhe morim estampado na medida exata para um novo traje, nem uma polegada a mais ou a menos, somente por aquela avaliação. “– Saia da sala – disseram os dois homens em uníssono, agarrando suas espadas. “– Hã? – disse o meu tio, como se não compreendesse o que eles queriam dizer. “– Saia da sala ou o senhor é um homem morto – disse o mal encarado da espada grande, sacando-a na mesma hora e brandindo-a no ar. “– Vamos acabar com ele! – gritou o cavalheiro em azul-celeste, sacando a adaga também e recuando dois ou três metros. – Vamos acabar com ele! “A moça soltou um grito agudo. “Ora, o meu tio sempre foi notório pela grande ousadia e pela grande presença de espírito. Todo o tempo em que parecia tão indiferente ao que acontecia, ele estava procurando, furtivo, por alguma coisa para arremessar ou alguma arma de defesa e, no exato momento em que as espadas foram sacadas, vislumbrou, encostado no canto da lareira, um florete antigo com guarda-mão, numa bainha enferrujada. De um pulo, meu tio pegou-o na mão, sacou-o, floreou-o galantemente sobre a cabeça, gritou para a moça sair de perto, jogou a cadeira em cima do homem de azul-celeste e a bainha sobre o homem de cor de ameixa e, aproveitando-se da confusão, arremeteu contra eles, de qualquer jeito. “Cavalheiros, há uma história antiga – mas nem por isso menos verdadeira – sobre um jovem e elegante cavalheiro irlandês que, ao ser perguntado se era capaz de tocar a rabeca, respondeu claro que sim, mas não podia afirmar com certeza, pois nunca havia tentado. Isso se aplica ao meu tio e à sua esgrima. Ele nunca empunhara antes uma espada, exceto naquela vez em que interpretou o Ricardo III de Shakespeare numa encenação para conhecidos, ocasião em que ficou combinado que Richmond o trespassaria pelas costas, sem sinal algum de luta. Mas, lá estava ele, golpeando e atacando dois experientes espadachins: lancetando e se defendendo, investindo e retalhando e se comportando da maneira mais viril e ágil possível, embora até aquele momento ele não soubesse que possuía sequer a mínima noção de esgrima. O que apenas confirma o velho ditado: um homem não sabe do que é capaz até tentar, cavalheiros. “O barulho da luta era medonho; cada um dos três combatentes blasfemando como um cavalariano, e as espadas tilintando com ruído tal que parecia o barulho de todas as facas e lâminas do mercado de Newport entrechocando-se ao mesmo tempo. Quando tudo estava no auge, a moça (muito provavelmente para encorajar o meu tio) puxou o capuz para trás e revelou uma fisionomia de beleza tão estonteante que ele teria enfrentado um pelotão para ganhar um sorriso dela – e então morrer. Ele já estava fazendo proezas, mas então começou a lutar como um gigante enfurecido. “Naquele exato momento, o cavalheiro em azul-celeste virou-se. Ao ver a moça com o rosto descoberto, soltou uma exclamação de raiva e de ciúmes e, virando sua arma contra o belo seio feminino, dirigiu uma estocada ao coração dela, o que fez o meu tio dar um grito de apreensão, fazendo o prédio tremer. A moça deu um passo ágil para o lado e, roubando a espada da mão do jovem antes que ele recuperasse o equilíbrio, levou-o contra a parede e cravou-o nos painéis de lambri, bem cravado, até o cabo da espada. Foi um exemplo esplêndido. O meu tio, com um forte grito de triunfo e uma força irresistível, fez o seu adversário recuar na mesma direção e, enfiando o velho florete bem no centro de uma grande flor vermelha na estampa do colete dele, pregou-o na parede ao lado de seu amigo; lá ficaram ambos, cavalheiros, remexendo braços e pernas, em agonia, como bonecos de lojas de brinquedo movidos por um pedaço de barbante. O meu tio sempre dizia, depois, que essa era, sem dúvida, uma das maneiras mais garantidas que conhecia para se livrar de um inimigo; mas era suscetível de objeção por ser dispendiosa, já que envolvia a perda de uma espada para cada homem eliminado. “– A carruagem! A carruagem! – gritou a moça, correndo até o meu tio e jogando os belos braços ao redor do pescoço dele. – Talvez dê para escapar. “– Talvez! – gritou o meu tio. – Por quê, minha querida? Não há mais ninguém para matar, não é? “O meu tio estava muito decepcionado, cavalheiros, pois imaginava que, após aquela matança, um pouquinho de namoro viria a calhar, nem que fosse para mudar de assunto. “– Não temos um minuto a perder – disse a moça. – Ele (apontando para o jovem cavalheiro de azul-celeste) é filho único do poderoso marquês de Filletoville. “– Ora, então, minha querida, receio que ele nunca vá receber o título – disse o meu tio, com um olhar gélido para o jovem cavalheiro fixado à parede, debatendo-se como um escaravelho, do modo que descrevi. – Você interrompeu a sucessão, meu amor. “– Eu fui arrancada de minha casa e da companhia de meus amigos por estes bandidos – falou a moça, com o rosto brilhando de indignação. – Aquele patife queria casar à força comigo. “– Maldito sem-vergonha! – disse o meu tio, lançando um olhar de extremo desprezo ao herdeiro moribundo de Filletoville. “– Como você pode imaginar pelo que viu – disse a moça –, eles estavam prontos para me matar se eu pedisse socorro a alguém. Se os cúmplices deles nos encontrarem aqui, estamos perdidos. Eles podem chegar a qualquer minuto! A carruagem! “Com essas palavras, dominada pela emoção e pelo esforço de espetar o jovem marquês de Filletoville, ela desfaleceu nos braços do meu tio. Ele a amparou e carregou-a até a porta da casa. Lá estava a carruagem do correio, com quatro cavalos pretos de cola comprida e crinas ondulantes, recém-encilhados; porém, sem cocheiro, sem guarda, nem ao menos um cavalariço, para comandar os cavalos. “Cavalheiros, espero não ser injusto à memória do meu tio ao expressar a minha opinião: embora fosse solteiro convicto, ele teve algumas senhoras nos braços antes dessa oportunidade; acredito, mesmo, que cultivava o hábito de beijar as moças que servem em bares; e fiquei sabendo que, por uma ou duas vezes, testemunhas confiáveis viram-no abraçando uma dona de estalagem de um modo deveras saliente. Menciono o fato para mostrar o quão incomum essa linda moça deve ter sido, para afetar o meu tio do modo que afetou; ele dizia que, quando ela voltou a si, os cabelos escuros e compridos roçando o seu braço, os belos olhos escuros fixando-se no seu rosto, ele se sentiu tão estranho e nervoso que suas pernas começaram a tremer. Porém, quem consegue fitar um doce e suave par de olhos escuros sem se sentir esquisito? Eu não consigo, cavalheiros. Tenho medo de fitar certos olhos que conheço, e essa é a pura verdade. “– Você nunca vai me abandonar – sussurrou a jovem. “– Nunca – disse o meu tio. E ele falava sério. “– Meu querido salvador! – exclamou a moça. – Meu querido, gentil e corajoso salvador! “– Não – disse o meu tio, interrompendo-a. “– Por quê? – indagou a moça. “– Porque a sua boca fica tão linda quando você fala – respondeu o meu tio –, que receio deixar de ser gentil e beijá-la. “A moça levantou a mão como para impedir o meu tio de fazer isso, e disse... ou melhor, não disse nada – sorriu. Quando você está olhando para lábios dos mais deliciosos do mundo, e presencia eles se abrirem com delicadeza num sorriso travesso – se você está muito perto deles, e não há ninguém mais por perto –, você não tem como atestar a admiração pela cor e pela forma desses lábios a não ser beijando-os imediatamente. Foi o que o meu tio fez, e eu o respeito por isso. “– Escute! – irrompeu a moça. – Barulho de rodas e cavalos! “– É verdade – disse o meu tio, escutando. “Ele tinha bom ouvido para rodas e tropel de cascos, mas era tamanha a barulheira de carros e cavalos ao longe, vindo na direção deles, que era impossível calcular quantos. Parecia o som de cinquenta carros, puxados por seis cavalos de raça cada um. “– Estão atrás de nós! – gritou a moça, apertando as mãos. – Estão atrás de nós. Você é a minha única esperança! “Era tamanha a expressão de terror em seu belo rosto que a decisão do meu tio foi imediata. Ele a colocou dentro da carruagem, disse para não ficar assustada, beijou-a nos lábios mais uma vez, aconselhou que fechasse a janela para evitar o ar frio e subiu à boleia. “– Pare, amor – gritou a moça. “– O que foi? – disse o meu tio, falando da boleia. “– Quero falar com você – disse a moça –, só uma palavrinha. Só uma, meu bem. “– Devo descer? – perguntou o meu tio. “A moça não respondeu, mas sorriu de novo. E que sorriso, cavalheiros! Foi melhor que o outro, sem dúvida. O meu tio desceu do seu poleiro num piscar de olhos. “– O que foi, minha querida? – disse o meu tio, olhando para dentro da carruagem, pela janela. “A moça, na mesma hora, inclinou-se para a frente, e o meu tio pensou que ela estava ainda mais bonita que antes. Ele estava muito perto dela nesse instante, cavalheiros, então ele devia saber. “– O que foi, querida? – disse o meu tio.
“– Você promete que nunca vai amar ninguém, apenas eu? Promete que nunca vai se casar com outra, só comigo? – disse a moça. “O meu tio fez um juramento solene de que nunca se casaria com outra mulher, e a moça recuou e fechou a janela. Ele galgou à boleia, juntou os cotovelos ao corpo, ajustou as rédeas, agarrou o chicote que estava sobre o teto do carro, estalou-o em um dos cavalos dianteiros, e lá se foram os quatro cavalos pretos de colas compridas e crinas ondulantes, a boas quinze milhas inglesas por hora, com a antiga carruagem do correio atrás deles. Uau! Que disparada! “O barulho atrás deles aumentava. Quanto mais rápido ia a antiga carruagem, mais rápido os perseguidores – homens, cavalos, cães – aliavam-se à perseguição. O barulho era assustador, porém, acima de tudo, erguia-se a voz da moça, incitando o meu tio, aos gritos agudos de ‘Mais rápido! Mais rápido!’. “Eles passavam pelas árvores escuras como plumas voariam antes de um furacão. Casas, portões, igrejas, montes de feno – eles passavam por objetos de toda sorte com a velocidade e o barulho das águas de uma represa subitamente rompida. Ainda assim, o barulho da perseguição aumentava, e, ainda assim, o meu tio podia escutar os gritos ensandecidos da moça: ‘Mais rápido! Mais rápido!’. “O meu tio manejava o chicote e as rédeas, e os cavalos voavam em frente até ficarem brancos de espuma, e ainda o barulho atrás deles crescia, e ainda a moça gritava: ‘Mais rápido! Mais rápido!’. No calor do momento, o meu tio bateu o pé com força no piso da boleia e... descobriu que era um dia cinzento, e que estava sentado no pátio do fabricante de rodas, no assento do cocheiro de uma carruagem do correio inglesa, tiritando com o frio úmido e batendo os pés no chão para esquentá-los! Desceu e procurou, ansioso, dentro do carro, pela moça bonita. Ai de mim! A carruagem não tinha porta nem assento. Era só uma casca. “É claro que o meu tio sabia muito bem que tinha algum mistério naquilo tudo, e que tudo havia acontecido da forma exata como ele costumava contar. Ele se manteve fiel ao juramento que fizera à bela moça, recusando, por causa dela, várias donas de estalagem casadoiras e, por fim, morreu solteiro. Ele sempre dizia que havia descoberto uma coisa curiosa, por um mero acaso, ao ter pulado o tapume: que os fantasmas das carruagens do correio, dos cavalos, dos guardas, dos cocheiros e dos passageiros realizavam viagens regulares todas as noites. Ele costumava acrescentar que acreditava ter sido o único ser vivo já levado como passageiro numa dessas excursões. E eu acho que ele estava certo, cavalheiros – pelo menos nunca ouvi falar de mais ninguém.”
1 Personagem do Punch & Judy Show, teatro de bonecos popular em Londres na primeira metade do século XIX. (N.T.)
2 Popular canção escocesa cuja letra foi escrita em 1789 pelo poeta Robert Burns (1759-1796). (N.E.)
O BARÃO DE GROGZWIG
O barão Von Koëldwethout, de Grogzwig, na Alemanha, era tão parecido com um jovem barão quanto podia ser. Não preciso dizer que ele morava num castelo, pois isso é óbvio; desnecessário também dizer que num castelo antigo, pois qual barão alemão alguma vez morou num castelo novo? A venerável construção era envolta por muitas circunstâncias estranhas, entre as quais algumas nem um pouco misteriosas ou assustadoras. Por exemplo, quando o vento soprava, ribombava no interior das chaminés, ou mesmo uivar por entre as árvores da floresta vizinha; quando a lua brilhava, era para se infiltrar pelas seteiras da muralha, deixando bem-iluminados alguns trechos dos amplos corredores abertos e terraços, enquanto outros ficavam tristemente imersos nas sombras. Creio que, na falta de dinheiro, um dos ancestrais do barão certa noite cravou uma adaga em um cavalheiro que, em busca de informações quanto a que trajeto tomar, batera-lhe à porta, e supunha-se que, em decorrência disso, aquelas ocorrências miraculosas passaram a se manifestar. Todavia, para mim ainda permanece obscuro como isso pode ser, já que o ancestral do barão, tido como homem afável, terrivelmente compungido por sua impetuosidade, arrebatou de um barão menos importante certa quantidade de pedras e madeira, e com esses materiais erigiu uma capela em sinal de arrependimento por seu ato, ganhando assim um recibo do céu por saldar todas as suas dívidas. Falar daquele ancestral do barão traz-me à lembrança o rigor com que o barão exigia respeito diante da grandeza de sua estirpe. Temo não poder afirmar com toda a certeza o número de ancestrais do barão, mas sei que esses eram em número bem maior do que os de qualquer contemporâneo seu. Pena ele não viver nos dias de hoje, pois poderia ter feito mais. Como é duro para os grandes homens de idos séculos terem vindo ao mundo tão precocemente! Não se pode querer, nem com um mínimo de plausibilidade, que um homem nascido há trezentos ou quatrocentos anos tenha tantos antepassados quanto um homem que nasce hoje. O último homem, quem quer que seja – tanto quanto sabemos, pode ser um sapateiro, ou um vil e vulgar vagabundo –, terá uma árvore genealógica muito maior do que o maior dentre todos os mais importantes nobres hoje vivos; e quero argumentar que isso não é justo. Pois bem, retornando ao barão Von Koëldwethout de Grogzwig! Era um sujeito galhardo, de pele morena, cabelos escuros e farto bigode, que saía para caçar usando seu traje de montaria de sarja verde de Lincoln, botas de burel e uma corneta pendurada no ombro, parecendo um cocheiro. Quando soprava a corneta, 24 outros cavalheiros de linhagem inferior, em sarjas verdes de Lincoln um pouco mais grosseiras e botas de burel com solas um pouco mais grossas, surgiam de imediato; a comitiva toda saía a galope, iam juntos, segurando lanças que mais pareciam as barras laqueadas de um gradil, para caçar javalis – ou talvez campear um urso; neste caso, era o barão quem o matava, e mais tarde engraxava os bigodes na gordura do bicho. Era boa a vida do barão de Grogzwig, e melhor ainda a vida de seus agregados, que bebiam vinho do Reno todas as noites até escorregarem para debaixo da mesa, quando então largavam as garrafas no chão e ali mesmo pediam cachimbos. Nunca houve espadachins tão alegres, prazenteiros, folgazões e fanfarrões como os do jovial grupo de Grogzwig. Mas os prazeres da mesa, ou melhor, os prazeres de debaixo da mesa pediam um pouco de variedade, especialmente quando as mesmas 25 pessoas sentavam-se diariamente para saborear o mesmo banquete, discutir os mesmos assuntos e contar as mesmas histórias. Pois o barão acabou por se enfadar com tanta mesmice e queria novidade. Ele passou a se atracar com seus cavalheiros e experimentou chutar dois ou três deles todas as noites após a ceia. A princípio, a coisa foi divertida, mas a monotonia voltou a reinar depois de uma semana ou pouco mais, e o barão ficou mal-humorado e passou a procurar aqui e ali, em desespero, por algum novo passatempo. Certa noite, ao fim de um dia de caça em que conseguira superar Nimrod3 e Gillingwater4 e abatera “mais um magnífico urso”, o barão Von Koëldwethout trouxe o animal para casa em triunfo, sentou-se taciturno à cabeceira de sua mesa e ficou a mirar o teto sujo de fuligem de seu salão com desgosto. Entornou enormes copos de vinho, cheios até as bordas, mas, quanto mais bebia, mais franzia o cenho. Os cavalheiros que haviam sido honrados com a perigosa distinção de sentarem-se à direita e à esquerda do anfitrião imitaram-no no prodígio de beber o mesmo tanto, e franziam o cenho um para o outro. – Vou! – gritou o barão de súbito e acrescentou, com a mão direita dando um tapa na mesa e a esquerda torcendo o bigode: – Erguer um brinde à lady de Grogzwig! Os 24 sarjas-verdes empalideceram, com exceção dos 24 narizes, estes imutáveis. – Um brinde à lady de Grogzwig, eu disse – repetiu o barão, olhando ao redor. – Um brinde à lady de Grogzwig! – gritaram os sarjas verdes; e 24 goelas abaixo foram 24 quartilhos de um vinho alemão tão precioso que fez 48 lábios estalarem, e seus olhos voltaram a piscar. – A bela filha do barão Von Swillenhausen! – disse Koëldwethout e, condescendente, esclareceu: – Pediremos sua mão em casamento ao pai, antes que o sol se ponha amanhã. Se ele recusar, deceparemos o seu nariz. Um murmúrio surdo veio de seus confrades, e todos, num gesto pleno de aterradora significação, tocaram, primeiro, o cabo de suas espadas e, depois, as pontas de seus narizes. Que coisa linda de se ver, a devoção de nossos rebentos! Se a filha do barão Von Swillenhausen tivesse alegado ter outro em seu coração, ou se tivesse caído de joelhos diante do pai, salgando-lhe os pés com suas lágrimas, ou se tivesse apenas caído desfalecida e tivesse dirigido ao velho senhor seu pai os brados mais frenéticos, as chances seriam de uma em cem que o Castelo Swillenhausen voasse pela janela, ou antes, que o barão voasse pela janela e o castelo fosse demolido. Contudo, a donzela observou em silêncio diante do mensageiro que, ainda cedo na manhã seguinte, levou a proposta de Von Koëldwethout e, recatada que era, recolheu-se a seus aposentos, de cuja janela assistiu à chegada do seu pretendente e da comitiva que o acompanhava. Tão logo certificou-se de que o cavalheiro com farto bigode era quem viera pedir-lhe a mão em casamento, a jovem precipitou-se à presença do pai para expressar sua prontidão a sacrificar-se pela tranquilidade de seu pai. O venerável barão abraçou a filha e deixou rolar uma lágrima de alegria. Naquele dia, o castelo foi palco de grande comemoração. Os 24 sarjas-verdes de Von Koëldwethout trocaram votos de eterna amizade com os 12 sarjas-verdes de Von Swillenhausen e prometeram ao velho barão que beberiam de seu vinho até tudo tingir-se de rosa – o que provavelmente significava que beberiam até seus rostos adquirirem o mesmo tom de seus narizes. Na hora da despedida, todos deram-se tapinhas nas costas, e o barão Von Koëldwethout cavalgou contente de volta para o seu castelo, acompanhado de seus amigos. Por seis intermináveis semanas, os ursos e javalis tiveram uma trégua. As casas Von Koëldwethout e Von Swillenhausen estavam unidas; as lanças enferrujaram-se, e a corneta do barão enrouqueceu por falta de uso. Aqueles foram tempos maravilhosos para os 24 sarjas-verdes. Mas, ai que lástima! Seus dias de fartura e deleites estavam contados. – Meu querido – disse a baronesa. – Meu amor – disse o barão. – Esses homens barulhentos e rudes... – Quem, minha senhora? – disse o barão, num sobressalto. A baronesa apontou, do alto da janela onde os dois estavam, para o átrio do castelo, onde os sarjas-verdes sorviam distraídos um trago de conhaque em preparação para a caçada de um ou dois javalis. – Minha comitiva de caçada, senhora – disse o barão. – Dispense-os, amor – sussurrou a baronesa. – Dispensá-los? – gritou o barão, perplexo. – Para me agradar, amor – respondeu a baronesa. – Para agradar ao Diabo, senhora – retrucou o barão. Com isso, a baronesa deu um grito e caiu desfalecida aos pés do marido. O que ele poderia fazer? Chamou a dama de companhia da baronesa e berrou pelo médico; e então, irrompendo no átrio, chutou os dois sarjasverdes mais acostumados a levar pontapés e, amaldiçoando os outros à volta, mandou-lhes que fossem à... não interessa onde. Não sei como se diz em alemão. Se soubesse, eu diria... delicadamente, é claro. Não cabe a mim dizer por que meios ou em quantas etapas algumas esposas logram controlar alguns maridos da maneira como o fazem, mesmo que eu tenha lá minha opinião pessoal sobre o assunto e pense que nenhum membro do nosso Parlamento deveria se casar, já que três de cada quatro de nossos políticos casados são forçados a abandonar suas convicções para votar segundo os ditames da consciência de suas esposas (se é que tal coisa existe). Por ora, tudo que preciso dizer é que a baronesa Von Koëldwethout, não importa como, obteve grande controle sobre o barão Von Koëldwethout e, pouco a pouco, de bocado em bocado, dia após dia e ano após ano, o barão passou a ser derrotado nas discussões domésticas e ardilosamente afastado de seus velhos passatempos; e quando por fim tornou-se um sujeito gordo e robusto de 48 anos ou coisa que o valha, já não dava mais suas festas e banquetes, não participava de grandes farras e não tinha uma comitiva de caçada, nem sequer caçava mais. Em resumo, não lhe sobrou nada do que ele gostava, nada do que fazia; e, apesar de continuar feroz como um leão e audaz como uma águia, passara a andar debaixo do cabresto de sua esposa, esnobado e menosprezado em seu próprio Castelo de Grogzwig. Mas os infortúnios do barão não pararam por aí. Cerca de um ano depois de suas bodas, veio ao mundo um faminto barãozinho, em cuja honra queimaram-se muitos fogos de artifício e esvaziaram-se muitas dúzias de garrafas de vinho, mas no ano seguinte veio uma baronesinha e, no outro, mais um barãozinho, e assim por diante, a cada ano era um barão ou uma baronesa (e teve um ano em que foram dois juntos), até que o barão Von Koëldwethout viu-se pai de uma pequena família de doze filhos. A cada um desses nascimentos, a venerável baronesa Von Swillenhausen era acometida dos nervos, preocupada com o bem-estar de sua filha, a baronesa Von Koëldwethout; e, muito embora a boa senhora não contribuísse em nada para a recuperação de sua filha, ainda assim ela fazia questão de ficar o mais nervosa possível no Castelo de Grogzwig, dividindo seu tempo entre fazer observações moralizadoras sobre como o barão administrava sua propriedade e lamentar os infortúnios de sua pobre filhinha, tão infeliz. E, se o barão de Grogzwig, um pouco magoado e irritado com isso, tomava coragem e arriscava-se a sugerir que sua esposa estava melhor do que as esposas de outros barões, a baronesa Von Swillenhausen pedia a todos que notassem como ela – e apenas ela – condoía-se dos sofrimentos da sua querida filha, diante do que seus parentes e amigos observavam que, de fato, a velha baronesa chorava bem mais do que o genro e que, se havia um bruto de coração empedernido neste mundo, esse era o barão de Grogzwig. O pobre barão suportou tudo isso o tempo que pôde e, quando não aguentou mais, perdeu o apetite e o ânimo e afundou-se numa poltrona, soturno e abatido. Contudo, problemas mais graves ainda lhe estavam reservados e, à medida que se lhe apresentavam, cresciam sua melancolia e sua tristeza. Os tempos eram outros. Ele se endividara. Os cofres de Grogzwig estavam esvaziados, apesar de um dia terem sido vistos pela família Swillenhausen como inexauríveis; e, bem quando a baronesa estava a ponto de contribuir com um 13o nome para a linhagem dos Von Koëldwethout, o barão descobriu que não havia meios de voltar a encher os cofres. – Não sei o que fazer – disse o barão. – Acho que vou me matar. Aquela foi uma ideia brilhante. O barão pegou uma velha faca de caça de um armário próximo e, depois de afiá-la na sola de sua bota, foi para cima do próprio pescoço, como dizem os jovens. – Hmm – disse o barão, interrompendo-se. – Talvez não esteja afiada o bastante. O barão afiou a faca de novo e foi para cima outra vez, quando sua mão se paralisou por uma gritaria entre barõezinhos e baronesinhas, que tinham seu quarto de brincar numa das torres mais altas, com grades de ferro nas janelas para impedi-los de caírem no fosso. – Se eu fosse solteiro – disse o barão, num suspiro –, podia ter dado cabo da minha vida umas cinquenta vezes sem ser interrompido. Ei! Ponham uma garrafa de vinho e o maior dos meus cachimbos na sala pequena, atrás do vestíbulo, aquela com abóbada no teto. Um dos criados, passada meia hora ou tanto, muito gentilmente executou a ordem do barão. Uma vez informado de que sua ordem fora cumprida, o barão Von Koëldwethout dirigiu-se a passos largos para a dita saleta, de paredes revestidas com um escuro e lustroso lambri que brilhava à luz das achas de lenha que ardiam empilhadas na lareira. A garrafa e o cachimbo estavam prontos, e, em seu todo, o cômodo parecia bastante confortável. – Deixe a lâmpada – disse o barão. – Deseja algo mais, senhor? – perguntou o criado. – A sala para mim – respondeu o barão. O criado obedeceu, e o barão trancou a porta. – Vou fumar um último cachimbo – disse – e então me despeço deste mundo. Com isso, descansou a faca sobre a mesa até o instante em que fosse precisar dela e, engolindo de uma só vez uma generosa dose de vinho, o senhor de Grogzwig afundou-se na sua poltrona, esticou as pernas em frente à lareira e fumou o seu cachimbo. Seus pensamentos ocuparam-se de muitas coisas: as dificuldades do presente, os idos tempos de solteiro, os sarjas-verdes havia muito dispensados, espalhados pelo país, ninguém sabia onde, com exceção de dois que infelizmente foram decapitados e quatro que se mataram de tanto beber. O pensamento do barão vagava por ursos e javalis quando, no processo de esvaziar o copo, ergueu os olhos e viu, pela primeira vez, e com ilimitada surpresa, que não estava só. Não, ele não estava só; pois, do outro lado da lareira, sentada de braços cruzados, estava uma criatura hedionda e encarquilhada, olhos injetados e muito encovados, rosto cadavérico meio encoberto por mechas de um cabelo preto, grosso, emaranhado e cheio de pontas irregulares. Ele usava uma espécie de túnica num tom de azul desbotado que, como notou o barão ao observá-lo em detalhe, tinha na frente, de alto a baixo, fazendo as vezes de botões ou atavios, alças de ataúdes. As pernas da criatura também estavam encerradas em placas metálicas de ataúdes, o que lembrava uma armadura; e, sobre o ombro esquerdo, ele usava uma capa curta, escura, que parecia ter sido feita com uma sobra de pano de mortalha. Ele nem olhou para o barão, mas tinha o olhar fixo na lareira. – Olá – disse o barão, batendo o pé no chão para atrair-lhe a atenção. – Olá – retrucou o estranho, virando os olhos para o barão sem virar o rosto ou o corpo. – E então? – E então! – respondeu o barão, nem um pouco intimidado por aquela voz cavernosa e pelos olhos opacos. – Eu é que pergunto. Como foi que você entrou aqui? – Pela porta – respondeu a criatura. – O que é você? – perguntou o barão. – Um homem – respondeu a criatura. – Não acredito – diz o barão. – Então não acredite – diz a criatura. – Pois não acredito mesmo – reiterou o barão. A criatura fitou o corajoso barão de Grogzwig por um instante e então disse, num tom bem à vontade: – Estou vendo que não tem como enganá-lo. Não sou um homem. – Então o que você é? – perguntou o barão. – Um espírito – respondeu a criatura. – Você não se parece muito com um espírito – retorquiu o barão com escárnio. – Eu sou o Espírito do Desespero e do Suicídio – disse a aparição. – Agora você já sabe quem eu sou. Com essas palavras, a aparição voltou-se para o barão, como se ele estivesse se compondo para uma conversa – e o mais notável de tudo foi que ele jogou para um lado a capa e, revelando uma lança que lhe atravessava o centro do corpo, arrancou-a de um puxão e depositou-a sobre a mesa com toda a tranquilidade, como se aquilo fosse uma bengala. – E agora – disse a criatura, olhando para a faca de caça –, você está pronto para mim? – Ainda não – respondeu o barão. – Primeiro eu preciso terminar de fumar o meu cachimbo. – Apresse-se, então – disse a criatura. – Você parece impaciente – disse o barão. – Sim, estou com pressa – respondeu a criatura. – Os negócios vão muito bem para mim na Inglaterra e na França no momento, e ando muito ocupado. – Você bebe? – perguntou o barão, batendo na garrafa com o fornilho do cachimbo. – Em nove de cada dez vezes; e, quando bebo, bebo bastante – respondeu a criatura, ríspida. – Nunca com moderação? – Nunca – disse a criatura, com um tremor. – Beber faz a alegria. O barão deu mais uma olhada em seu novo amigo, achando-o um vizinho extraordinariamente esquisito, e, por fim, perguntou-lhe se tomava parte ativamente naqueles pequenos procedimentos como o que ele mesmo tinha em mente. – Não – respondeu a criatura de modo evasivo. – Mas me faço sempre presente. – Só para garantir que tudo corra bem, suponho eu – disse o barão. – Exatamente – retrucou a criatura, brincando com a sua lança, examinando-lhe a virola. – Seja o mais rápido possível, por favor, pois há um jovem cavalheiro que tem dinheiro e diversão em excesso e isso o aflige, e ele precisa de mim, pelo que me consta. – Vai se matar porque tem dinheiro demais! – exclamou o barão, bastante incomodado. – Rá, rá, rá, essa é boa! (Aquela era a primeira vez que o barão ria em muito, muito tempo.) – Eu lhe peço – disse a criatura, parecendo estar muito assustada –, não faça mais isso. – Por quê? – quis saber o barão. – Porque me faz doer todinho – respondeu a criatura. – Suspire o quanto quiser; isso me faz bem. O barão suspirou à menção da palavra; a criatura, reanimando-se, alcançou-lhe a faca de caça com a mais cativante cortesia. – Não é má ideia – disse o barão, sentindo o fio da arma –, um homem se matar porque tem dinheiro demais. – Pfui! – disse a aparição de modo petulante. – Não é nem melhor nem pior do que um homem se matar porque tem dinheiro faltando. Se o espírito sem querer comprometeu-se ao dizer isso, ou se ele pensou que o barão estava tão decidido que não importava o que ele dissesse, isso eu não tenho como saber. Só sei que o barão deteve sua mão de repente, arregalou os olhos, e parecia que uma nova luz fazia-se sobre ele pela primeira vez. – Ora – disse Von Koëldwethout –, com certeza nada é tão ruim que não possa ser remediado. – Exceto cofres vazios – gritou o espírito. – Bem... mas um dia podem estar cheios de novo – disse o barão. – Esposas ranzinzas – rosnou o espírito. – Ah, pode-se fazê-las calarem-se – disse o barão. – Treze filhos – berrou o espírito. – Impossível serem todos uns imprestáveis – disse o barão. Era evidente que o espírito estava ficando cada vez mais furioso com o barão por argumentar tudo assim de uma só vez, mas ele tentou rir da situação e disse ao barão que ficaria grato se o avisasse quando tivesse terminado de fazer piadas. – Mas eu não estou fazendo piadas; nunca falei tão sério – protestou o barão. – Bem, fico feliz de ouvir isso – disse o espírito, muito sinistro –, porque as piadas me matam, e isso não é piada. Vamos lá! Despeça-se de uma vez deste mundo cruel. – Não sei – disse o barão, brincando com a faca. – É um mundo cruel, com certeza, mas acho que o seu não é muito melhor, pois você não tem uma aparência de quem esteja lá muito à vontade. Isso me faz pensar... que garantias tenho eu, afinal, de que vou ficar melhor deixando este mundo? – gritou ele e, num sobressalto: – Eu não tinha pensado nisso. – Mate-se! – gritou a criatura, rilhando os dentes. – Afaste-se! – disse o barão. – Não vou mais me lamentar, vou encarar com otimismo os meus pesares, vou experimentar o ar puro e os ursos de novo e, se isso não der certo, vou ter uma conversa séria com a baronesa e vou passar a ignorar os Von Swillenhausen. Com isso, o barão deixou-se cair em sua poltrona e riu uma risada tão alta e tão violenta que a sala reverberou. A criatura recuou um passo ou dois, ao mesmo tempo fitando o barão com intenso terror, e, quando este parou de rir, pegou sua lança, cravou-a com violência no corpo, soltou um uivo horripilante e desapareceu. Von Koëldwethout nunca mais o viu. Decidido a reagir, tratou de chamar à razão a baronesa e os Von Swillenhausen. Morreu muitos anos depois não um homem rico, que eu saiba, mas com certeza um homem feliz, deixando uma família numerosa, por ele mesmo treinada com rigor e dedicação na caça aos ursos e aos javalis. O conselho que dou a todos os homens é que, se um dia ficarem deprimidos e sorumbáticos por motivos semelhantes (como ocorre a muitos), que examinem os dois lados da questão, usando uma lupa no melhor lado; se, ainda assim, sentirem-se tentados a retirar-se sem licença, que antes fumem um cachimbo bem grande, bebam uma garrafa inteira e mirem-se no louvável exemplo do barão de Grogzwig.
3 Nimrod, traduzido para o português como Ninrode ou Nemrod: “Foi valente caçador diante do Senhor; daí dizer-se: ‘Como Ninrode, poderoso caçador diante do Senhor’” (Gênesis: 10.9); Bíblia Completa. Versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. (N.T.)
4 Gillingwater, perfumista e cabeleireiro da Bishopsgate Street de Londres, notório por manter ursos presos no porão de sua loja e por exibir placas dizendo: “Abatemos outro urso jovem hoje”. Na época de Dickens, era moda os homens passarem gordura de urso no cabelo. (N.T.)
O barão Von Koëldwethout, de Grogzwig, na Alemanha, era tão parecido com um jovem barão quanto podia ser. Não preciso dizer que ele morava num castelo, pois isso é óbvio; desnecessário também dizer que num castelo antigo, pois qual barão alemão alguma vez morou num castelo novo? A venerável construção era envolta por muitas circunstâncias estranhas, entre as quais algumas nem um pouco misteriosas ou assustadoras. Por exemplo, quando o vento soprava, ribombava no interior das chaminés, ou mesmo uivar por entre as árvores da floresta vizinha; quando a lua brilhava, era para se infiltrar pelas seteiras da muralha, deixando bem-iluminados alguns trechos dos amplos corredores abertos e terraços, enquanto outros ficavam tristemente imersos nas sombras. Creio que, na falta de dinheiro, um dos ancestrais do barão certa noite cravou uma adaga em um cavalheiro que, em busca de informações quanto a que trajeto tomar, batera-lhe à porta, e supunha-se que, em decorrência disso, aquelas ocorrências miraculosas passaram a se manifestar. Todavia, para mim ainda permanece obscuro como isso pode ser, já que o ancestral do barão, tido como homem afável, terrivelmente compungido por sua impetuosidade, arrebatou de um barão menos importante certa quantidade de pedras e madeira, e com esses materiais erigiu uma capela em sinal de arrependimento por seu ato, ganhando assim um recibo do céu por saldar todas as suas dívidas. Falar daquele ancestral do barão traz-me à lembrança o rigor com que o barão exigia respeito diante da grandeza de sua estirpe. Temo não poder afirmar com toda a certeza o número de ancestrais do barão, mas sei que esses eram em número bem maior do que os de qualquer contemporâneo seu. Pena ele não viver nos dias de hoje, pois poderia ter feito mais. Como é duro para os grandes homens de idos séculos terem vindo ao mundo tão precocemente! Não se pode querer, nem com um mínimo de plausibilidade, que um homem nascido há trezentos ou quatrocentos anos tenha tantos antepassados quanto um homem que nasce hoje. O último homem, quem quer que seja – tanto quanto sabemos, pode ser um sapateiro, ou um vil e vulgar vagabundo –, terá uma árvore genealógica muito maior do que o maior dentre todos os mais importantes nobres hoje vivos; e quero argumentar que isso não é justo. Pois bem, retornando ao barão Von Koëldwethout de Grogzwig! Era um sujeito galhardo, de pele morena, cabelos escuros e farto bigode, que saía para caçar usando seu traje de montaria de sarja verde de Lincoln, botas de burel e uma corneta pendurada no ombro, parecendo um cocheiro. Quando soprava a corneta, 24 outros cavalheiros de linhagem inferior, em sarjas verdes de Lincoln um pouco mais grosseiras e botas de burel com solas um pouco mais grossas, surgiam de imediato; a comitiva toda saía a galope, iam juntos, segurando lanças que mais pareciam as barras laqueadas de um gradil, para caçar javalis – ou talvez campear um urso; neste caso, era o barão quem o matava, e mais tarde engraxava os bigodes na gordura do bicho. Era boa a vida do barão de Grogzwig, e melhor ainda a vida de seus agregados, que bebiam vinho do Reno todas as noites até escorregarem para debaixo da mesa, quando então largavam as garrafas no chão e ali mesmo pediam cachimbos. Nunca houve espadachins tão alegres, prazenteiros, folgazões e fanfarrões como os do jovial grupo de Grogzwig. Mas os prazeres da mesa, ou melhor, os prazeres de debaixo da mesa pediam um pouco de variedade, especialmente quando as mesmas 25 pessoas sentavam-se diariamente para saborear o mesmo banquete, discutir os mesmos assuntos e contar as mesmas histórias. Pois o barão acabou por se enfadar com tanta mesmice e queria novidade. Ele passou a se atracar com seus cavalheiros e experimentou chutar dois ou três deles todas as noites após a ceia. A princípio, a coisa foi divertida, mas a monotonia voltou a reinar depois de uma semana ou pouco mais, e o barão ficou mal-humorado e passou a procurar aqui e ali, em desespero, por algum novo passatempo. Certa noite, ao fim de um dia de caça em que conseguira superar Nimrod3 e Gillingwater4 e abatera “mais um magnífico urso”, o barão Von Koëldwethout trouxe o animal para casa em triunfo, sentou-se taciturno à cabeceira de sua mesa e ficou a mirar o teto sujo de fuligem de seu salão com desgosto. Entornou enormes copos de vinho, cheios até as bordas, mas, quanto mais bebia, mais franzia o cenho. Os cavalheiros que haviam sido honrados com a perigosa distinção de sentarem-se à direita e à esquerda do anfitrião imitaram-no no prodígio de beber o mesmo tanto, e franziam o cenho um para o outro. – Vou! – gritou o barão de súbito e acrescentou, com a mão direita dando um tapa na mesa e a esquerda torcendo o bigode: – Erguer um brinde à lady de Grogzwig! Os 24 sarjas-verdes empalideceram, com exceção dos 24 narizes, estes imutáveis. – Um brinde à lady de Grogzwig, eu disse – repetiu o barão, olhando ao redor. – Um brinde à lady de Grogzwig! – gritaram os sarjas verdes; e 24 goelas abaixo foram 24 quartilhos de um vinho alemão tão precioso que fez 48 lábios estalarem, e seus olhos voltaram a piscar. – A bela filha do barão Von Swillenhausen! – disse Koëldwethout e, condescendente, esclareceu: – Pediremos sua mão em casamento ao pai, antes que o sol se ponha amanhã. Se ele recusar, deceparemos o seu nariz. Um murmúrio surdo veio de seus confrades, e todos, num gesto pleno de aterradora significação, tocaram, primeiro, o cabo de suas espadas e, depois, as pontas de seus narizes. Que coisa linda de se ver, a devoção de nossos rebentos! Se a filha do barão Von Swillenhausen tivesse alegado ter outro em seu coração, ou se tivesse caído de joelhos diante do pai, salgando-lhe os pés com suas lágrimas, ou se tivesse apenas caído desfalecida e tivesse dirigido ao velho senhor seu pai os brados mais frenéticos, as chances seriam de uma em cem que o Castelo Swillenhausen voasse pela janela, ou antes, que o barão voasse pela janela e o castelo fosse demolido. Contudo, a donzela observou em silêncio diante do mensageiro que, ainda cedo na manhã seguinte, levou a proposta de Von Koëldwethout e, recatada que era, recolheu-se a seus aposentos, de cuja janela assistiu à chegada do seu pretendente e da comitiva que o acompanhava. Tão logo certificou-se de que o cavalheiro com farto bigode era quem viera pedir-lhe a mão em casamento, a jovem precipitou-se à presença do pai para expressar sua prontidão a sacrificar-se pela tranquilidade de seu pai. O venerável barão abraçou a filha e deixou rolar uma lágrima de alegria. Naquele dia, o castelo foi palco de grande comemoração. Os 24 sarjas-verdes de Von Koëldwethout trocaram votos de eterna amizade com os 12 sarjas-verdes de Von Swillenhausen e prometeram ao velho barão que beberiam de seu vinho até tudo tingir-se de rosa – o que provavelmente significava que beberiam até seus rostos adquirirem o mesmo tom de seus narizes. Na hora da despedida, todos deram-se tapinhas nas costas, e o barão Von Koëldwethout cavalgou contente de volta para o seu castelo, acompanhado de seus amigos. Por seis intermináveis semanas, os ursos e javalis tiveram uma trégua. As casas Von Koëldwethout e Von Swillenhausen estavam unidas; as lanças enferrujaram-se, e a corneta do barão enrouqueceu por falta de uso. Aqueles foram tempos maravilhosos para os 24 sarjas-verdes. Mas, ai que lástima! Seus dias de fartura e deleites estavam contados. – Meu querido – disse a baronesa. – Meu amor – disse o barão. – Esses homens barulhentos e rudes... – Quem, minha senhora? – disse o barão, num sobressalto. A baronesa apontou, do alto da janela onde os dois estavam, para o átrio do castelo, onde os sarjas-verdes sorviam distraídos um trago de conhaque em preparação para a caçada de um ou dois javalis. – Minha comitiva de caçada, senhora – disse o barão. – Dispense-os, amor – sussurrou a baronesa. – Dispensá-los? – gritou o barão, perplexo. – Para me agradar, amor – respondeu a baronesa. – Para agradar ao Diabo, senhora – retrucou o barão. Com isso, a baronesa deu um grito e caiu desfalecida aos pés do marido. O que ele poderia fazer? Chamou a dama de companhia da baronesa e berrou pelo médico; e então, irrompendo no átrio, chutou os dois sarjasverdes mais acostumados a levar pontapés e, amaldiçoando os outros à volta, mandou-lhes que fossem à... não interessa onde. Não sei como se diz em alemão. Se soubesse, eu diria... delicadamente, é claro. Não cabe a mim dizer por que meios ou em quantas etapas algumas esposas logram controlar alguns maridos da maneira como o fazem, mesmo que eu tenha lá minha opinião pessoal sobre o assunto e pense que nenhum membro do nosso Parlamento deveria se casar, já que três de cada quatro de nossos políticos casados são forçados a abandonar suas convicções para votar segundo os ditames da consciência de suas esposas (se é que tal coisa existe). Por ora, tudo que preciso dizer é que a baronesa Von Koëldwethout, não importa como, obteve grande controle sobre o barão Von Koëldwethout e, pouco a pouco, de bocado em bocado, dia após dia e ano após ano, o barão passou a ser derrotado nas discussões domésticas e ardilosamente afastado de seus velhos passatempos; e quando por fim tornou-se um sujeito gordo e robusto de 48 anos ou coisa que o valha, já não dava mais suas festas e banquetes, não participava de grandes farras e não tinha uma comitiva de caçada, nem sequer caçava mais. Em resumo, não lhe sobrou nada do que ele gostava, nada do que fazia; e, apesar de continuar feroz como um leão e audaz como uma águia, passara a andar debaixo do cabresto de sua esposa, esnobado e menosprezado em seu próprio Castelo de Grogzwig. Mas os infortúnios do barão não pararam por aí. Cerca de um ano depois de suas bodas, veio ao mundo um faminto barãozinho, em cuja honra queimaram-se muitos fogos de artifício e esvaziaram-se muitas dúzias de garrafas de vinho, mas no ano seguinte veio uma baronesinha e, no outro, mais um barãozinho, e assim por diante, a cada ano era um barão ou uma baronesa (e teve um ano em que foram dois juntos), até que o barão Von Koëldwethout viu-se pai de uma pequena família de doze filhos. A cada um desses nascimentos, a venerável baronesa Von Swillenhausen era acometida dos nervos, preocupada com o bem-estar de sua filha, a baronesa Von Koëldwethout; e, muito embora a boa senhora não contribuísse em nada para a recuperação de sua filha, ainda assim ela fazia questão de ficar o mais nervosa possível no Castelo de Grogzwig, dividindo seu tempo entre fazer observações moralizadoras sobre como o barão administrava sua propriedade e lamentar os infortúnios de sua pobre filhinha, tão infeliz. E, se o barão de Grogzwig, um pouco magoado e irritado com isso, tomava coragem e arriscava-se a sugerir que sua esposa estava melhor do que as esposas de outros barões, a baronesa Von Swillenhausen pedia a todos que notassem como ela – e apenas ela – condoía-se dos sofrimentos da sua querida filha, diante do que seus parentes e amigos observavam que, de fato, a velha baronesa chorava bem mais do que o genro e que, se havia um bruto de coração empedernido neste mundo, esse era o barão de Grogzwig. O pobre barão suportou tudo isso o tempo que pôde e, quando não aguentou mais, perdeu o apetite e o ânimo e afundou-se numa poltrona, soturno e abatido. Contudo, problemas mais graves ainda lhe estavam reservados e, à medida que se lhe apresentavam, cresciam sua melancolia e sua tristeza. Os tempos eram outros. Ele se endividara. Os cofres de Grogzwig estavam esvaziados, apesar de um dia terem sido vistos pela família Swillenhausen como inexauríveis; e, bem quando a baronesa estava a ponto de contribuir com um 13o nome para a linhagem dos Von Koëldwethout, o barão descobriu que não havia meios de voltar a encher os cofres. – Não sei o que fazer – disse o barão. – Acho que vou me matar. Aquela foi uma ideia brilhante. O barão pegou uma velha faca de caça de um armário próximo e, depois de afiá-la na sola de sua bota, foi para cima do próprio pescoço, como dizem os jovens. – Hmm – disse o barão, interrompendo-se. – Talvez não esteja afiada o bastante. O barão afiou a faca de novo e foi para cima outra vez, quando sua mão se paralisou por uma gritaria entre barõezinhos e baronesinhas, que tinham seu quarto de brincar numa das torres mais altas, com grades de ferro nas janelas para impedi-los de caírem no fosso. – Se eu fosse solteiro – disse o barão, num suspiro –, podia ter dado cabo da minha vida umas cinquenta vezes sem ser interrompido. Ei! Ponham uma garrafa de vinho e o maior dos meus cachimbos na sala pequena, atrás do vestíbulo, aquela com abóbada no teto. Um dos criados, passada meia hora ou tanto, muito gentilmente executou a ordem do barão. Uma vez informado de que sua ordem fora cumprida, o barão Von Koëldwethout dirigiu-se a passos largos para a dita saleta, de paredes revestidas com um escuro e lustroso lambri que brilhava à luz das achas de lenha que ardiam empilhadas na lareira. A garrafa e o cachimbo estavam prontos, e, em seu todo, o cômodo parecia bastante confortável. – Deixe a lâmpada – disse o barão. – Deseja algo mais, senhor? – perguntou o criado. – A sala para mim – respondeu o barão. O criado obedeceu, e o barão trancou a porta. – Vou fumar um último cachimbo – disse – e então me despeço deste mundo. Com isso, descansou a faca sobre a mesa até o instante em que fosse precisar dela e, engolindo de uma só vez uma generosa dose de vinho, o senhor de Grogzwig afundou-se na sua poltrona, esticou as pernas em frente à lareira e fumou o seu cachimbo. Seus pensamentos ocuparam-se de muitas coisas: as dificuldades do presente, os idos tempos de solteiro, os sarjas-verdes havia muito dispensados, espalhados pelo país, ninguém sabia onde, com exceção de dois que infelizmente foram decapitados e quatro que se mataram de tanto beber. O pensamento do barão vagava por ursos e javalis quando, no processo de esvaziar o copo, ergueu os olhos e viu, pela primeira vez, e com ilimitada surpresa, que não estava só. Não, ele não estava só; pois, do outro lado da lareira, sentada de braços cruzados, estava uma criatura hedionda e encarquilhada, olhos injetados e muito encovados, rosto cadavérico meio encoberto por mechas de um cabelo preto, grosso, emaranhado e cheio de pontas irregulares. Ele usava uma espécie de túnica num tom de azul desbotado que, como notou o barão ao observá-lo em detalhe, tinha na frente, de alto a baixo, fazendo as vezes de botões ou atavios, alças de ataúdes. As pernas da criatura também estavam encerradas em placas metálicas de ataúdes, o que lembrava uma armadura; e, sobre o ombro esquerdo, ele usava uma capa curta, escura, que parecia ter sido feita com uma sobra de pano de mortalha. Ele nem olhou para o barão, mas tinha o olhar fixo na lareira. – Olá – disse o barão, batendo o pé no chão para atrair-lhe a atenção. – Olá – retrucou o estranho, virando os olhos para o barão sem virar o rosto ou o corpo. – E então? – E então! – respondeu o barão, nem um pouco intimidado por aquela voz cavernosa e pelos olhos opacos. – Eu é que pergunto. Como foi que você entrou aqui? – Pela porta – respondeu a criatura. – O que é você? – perguntou o barão. – Um homem – respondeu a criatura. – Não acredito – diz o barão. – Então não acredite – diz a criatura. – Pois não acredito mesmo – reiterou o barão. A criatura fitou o corajoso barão de Grogzwig por um instante e então disse, num tom bem à vontade: – Estou vendo que não tem como enganá-lo. Não sou um homem. – Então o que você é? – perguntou o barão. – Um espírito – respondeu a criatura. – Você não se parece muito com um espírito – retorquiu o barão com escárnio. – Eu sou o Espírito do Desespero e do Suicídio – disse a aparição. – Agora você já sabe quem eu sou. Com essas palavras, a aparição voltou-se para o barão, como se ele estivesse se compondo para uma conversa – e o mais notável de tudo foi que ele jogou para um lado a capa e, revelando uma lança que lhe atravessava o centro do corpo, arrancou-a de um puxão e depositou-a sobre a mesa com toda a tranquilidade, como se aquilo fosse uma bengala. – E agora – disse a criatura, olhando para a faca de caça –, você está pronto para mim? – Ainda não – respondeu o barão. – Primeiro eu preciso terminar de fumar o meu cachimbo. – Apresse-se, então – disse a criatura. – Você parece impaciente – disse o barão. – Sim, estou com pressa – respondeu a criatura. – Os negócios vão muito bem para mim na Inglaterra e na França no momento, e ando muito ocupado. – Você bebe? – perguntou o barão, batendo na garrafa com o fornilho do cachimbo. – Em nove de cada dez vezes; e, quando bebo, bebo bastante – respondeu a criatura, ríspida. – Nunca com moderação? – Nunca – disse a criatura, com um tremor. – Beber faz a alegria. O barão deu mais uma olhada em seu novo amigo, achando-o um vizinho extraordinariamente esquisito, e, por fim, perguntou-lhe se tomava parte ativamente naqueles pequenos procedimentos como o que ele mesmo tinha em mente. – Não – respondeu a criatura de modo evasivo. – Mas me faço sempre presente. – Só para garantir que tudo corra bem, suponho eu – disse o barão. – Exatamente – retrucou a criatura, brincando com a sua lança, examinando-lhe a virola. – Seja o mais rápido possível, por favor, pois há um jovem cavalheiro que tem dinheiro e diversão em excesso e isso o aflige, e ele precisa de mim, pelo que me consta. – Vai se matar porque tem dinheiro demais! – exclamou o barão, bastante incomodado. – Rá, rá, rá, essa é boa! (Aquela era a primeira vez que o barão ria em muito, muito tempo.) – Eu lhe peço – disse a criatura, parecendo estar muito assustada –, não faça mais isso. – Por quê? – quis saber o barão. – Porque me faz doer todinho – respondeu a criatura. – Suspire o quanto quiser; isso me faz bem. O barão suspirou à menção da palavra; a criatura, reanimando-se, alcançou-lhe a faca de caça com a mais cativante cortesia. – Não é má ideia – disse o barão, sentindo o fio da arma –, um homem se matar porque tem dinheiro demais. – Pfui! – disse a aparição de modo petulante. – Não é nem melhor nem pior do que um homem se matar porque tem dinheiro faltando. Se o espírito sem querer comprometeu-se ao dizer isso, ou se ele pensou que o barão estava tão decidido que não importava o que ele dissesse, isso eu não tenho como saber. Só sei que o barão deteve sua mão de repente, arregalou os olhos, e parecia que uma nova luz fazia-se sobre ele pela primeira vez. – Ora – disse Von Koëldwethout –, com certeza nada é tão ruim que não possa ser remediado. – Exceto cofres vazios – gritou o espírito. – Bem... mas um dia podem estar cheios de novo – disse o barão. – Esposas ranzinzas – rosnou o espírito. – Ah, pode-se fazê-las calarem-se – disse o barão. – Treze filhos – berrou o espírito. – Impossível serem todos uns imprestáveis – disse o barão. Era evidente que o espírito estava ficando cada vez mais furioso com o barão por argumentar tudo assim de uma só vez, mas ele tentou rir da situação e disse ao barão que ficaria grato se o avisasse quando tivesse terminado de fazer piadas. – Mas eu não estou fazendo piadas; nunca falei tão sério – protestou o barão. – Bem, fico feliz de ouvir isso – disse o espírito, muito sinistro –, porque as piadas me matam, e isso não é piada. Vamos lá! Despeça-se de uma vez deste mundo cruel. – Não sei – disse o barão, brincando com a faca. – É um mundo cruel, com certeza, mas acho que o seu não é muito melhor, pois você não tem uma aparência de quem esteja lá muito à vontade. Isso me faz pensar... que garantias tenho eu, afinal, de que vou ficar melhor deixando este mundo? – gritou ele e, num sobressalto: – Eu não tinha pensado nisso. – Mate-se! – gritou a criatura, rilhando os dentes. – Afaste-se! – disse o barão. – Não vou mais me lamentar, vou encarar com otimismo os meus pesares, vou experimentar o ar puro e os ursos de novo e, se isso não der certo, vou ter uma conversa séria com a baronesa e vou passar a ignorar os Von Swillenhausen. Com isso, o barão deixou-se cair em sua poltrona e riu uma risada tão alta e tão violenta que a sala reverberou. A criatura recuou um passo ou dois, ao mesmo tempo fitando o barão com intenso terror, e, quando este parou de rir, pegou sua lança, cravou-a com violência no corpo, soltou um uivo horripilante e desapareceu. Von Koëldwethout nunca mais o viu. Decidido a reagir, tratou de chamar à razão a baronesa e os Von Swillenhausen. Morreu muitos anos depois não um homem rico, que eu saiba, mas com certeza um homem feliz, deixando uma família numerosa, por ele mesmo treinada com rigor e dedicação na caça aos ursos e aos javalis. O conselho que dou a todos os homens é que, se um dia ficarem deprimidos e sorumbáticos por motivos semelhantes (como ocorre a muitos), que examinem os dois lados da questão, usando uma lupa no melhor lado; se, ainda assim, sentirem-se tentados a retirar-se sem licença, que antes fumem um cachimbo bem grande, bebam uma garrafa inteira e mirem-se no louvável exemplo do barão de Grogzwig.
3 Nimrod, traduzido para o português como Ninrode ou Nemrod: “Foi valente caçador diante do Senhor; daí dizer-se: ‘Como Ninrode, poderoso caçador diante do Senhor’” (Gênesis: 10.9); Bíblia Completa. Versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. (N.T.)
4 Gillingwater, perfumista e cabeleireiro da Bishopsgate Street de Londres, notório por manter ursos presos no porão de sua loja e por exibir placas dizendo: “Abatemos outro urso jovem hoje”. Na época de Dickens, era moda os homens passarem gordura de urso no cabelo. (N.T.)
UMA CONFISSÃO ENCONTRADA NO CÁRCERE À ÉPOCA DO REI CARLOS
Ocupei o posto de tenente no exército de Sua Majestade e servi no exterior nas campanhas de 1677 e 1678. Assinado o Tratado de Nimegen, voltei para casa e, me aposentando, retirei-me para uma pequena propriedade algumas milhas ao leste de Londres, que havia recentemente adquirido em nome de minha esposa. Esta é a última noite que tenho para viver, e revelarei a verdade nua e crua, sem nenhum disfarce. Nunca fui um homem destemido e, desde pequeno, sempre fui furtivo, rabugento e desconfiado. Falo de mim como se já tivesse deixado este mundo, pois, enquanto escrevo, minha sepultura está sendo cavada, e meu nome está gravado no livro negro da morte. Logo após meu retorno à Inglaterra, meu único irmão foi acometido de uma doença mortal. Senti pouca ou nenhuma dor pelo acontecido porque, desde que nos tornamos adultos, nos víamos muito pouco. Ele era franco, generoso, mais bonito do que eu, mais bem-sucedido, e todos gostavam muito dele. Aqueles que buscavam minha companhia no exterior ou em casa porque eram amigos dele raramente se apegavam a mim por muito tempo e diziam, logo em nossa primeira conversa, que ficavam surpresos em encontrar dois irmãos tão diferentes nos modos e na aparência. Era costume meu induzi-los a essa declaração, porque eu sabia que tipo de comparações deviam fazer entre nós dois e, tendo uma inveja pungente em meu coração, eu procurava justificá-la para mim mesmo. Nós havíamos casado com duas irmãs. Este laço adicional entre nós, como podia parecer a alguns, apenas serviu para nos apartar ainda mais. A esposa dele me conhecia bem. Eu não ficava lutando contra meu ciúme secreto ou rancor quando ela estava presente, no entanto aquela mulher sabia disso tão bem quanto eu. Eu nunca levantava os olhos quando os dela fixavam-se em mim, eu não baixava o olhar nem olhava noutra direção, mas percebia que ela me vigiava sempre. Era um alívio inexprimível para mim quando brigávamos, e foi um alívio ainda maior quando soube, no exterior, que ela morrera. Parece-me agora que um estranho e terrível pressentimento sobre o que aconteceu desde então deve ter rondado sobre nós. Eu tinha medo dela, ela pairava sobre mim como uma assombração; seu olhar fixo e firme retorna agora à minha mente como a lembrança de um sonho soturno e faz gelar o meu sangue. Ela morreu pouco depois de ter dado à luz uma criança – um menino. Quando meu irmão soube que não havia mais esperanças de recuperação para si próprio, chamou a minha esposa à cabeceira de seu leito e confioulhe esse órfão, uma criança de quatro anos, aos seus cuidados. Meu irmão legou a ele todos os seus bens e deixou expresso em seu testamento que, no caso de a criança vir a morrer, tudo passaria para o nome de minha esposa, único reconhecimento que ele poderia ter pelos cuidados dela e seu amor. Ele trocou algumas palavras fraternais comigo, deplorando nossa longa separação, e, exaurido, caiu num sono letárgico do qual nunca acordou. Nós não tínhamos filhos e, como tinha havido uma profunda afeição entre as irmãs, e tendo minha esposa praticamente ocupado o lugar de mãe para o menino, ela amou-o como se fosse dela mesma. Ele era extremamente apegado a ela; no entanto, era a imagem da mãe em rosto e espírito e sempre desconfiou de mim. Eu mal posso fixar a data em que a impressão surgiu, mas passei a ficar incomodado quando essa criança estava por perto. Sempre que me desvencilhava de pensamentos sombrios, notava que ele estivera me observando: não com uma admiração infantil, mas com algo do propósito e da significação que tantas vezes eu notara em sua mãe. Não era um esforço da minha imaginação, baseava-se na grande semelhança de feições e expressão. Nunca pude dominar o menino com o olhar. Ele tinha medo de mim, mas parecia que, ao mesmo tempo, por algum instinto, me desprezava; e, mesmo quando retrocedia sob meu olhar – como acontecia quando estávamos a sós, e para chegar-se para mais perto da porta –, ainda assim ele mantinha seus olhos brilhantes em mim. Talvez eu esconda de mim mesmo a verdade, mas não penso que, quando tudo isto começou, eu já tivesse cogitado fazer-lhe algum mal. Posso ter refletido o quanto a herança dele nos serviria e posso ter desejado sua morte, mas acredito que não me ocorreu planejar sua morte. Nem essa ideia surgiu de repente, mas, pelo contrário, pouco a pouco, apresentando-se de início sob forma vaga, como que à distância, como quando alguém pensa sobre um terremoto ou sobre o fim dos tempos – aí, então, vai se aproximando mais e mais e vai perdendo algo de seu horror e improbabilidade – e então vai se tornando parte e parcela... não, quase toda a soma e substância de meus pensamentos diários, e reduzindo-se a uma questão de recursos e segurança; não de executar o ato ou dele abster-se. À medida que isso ia se passando comigo, não suportava que a criança me surpreendesse olhando para ela, e, no entanto, ela me fascinava a ponto de se tornar uma espécie de ocupação para mim: contemplar sua figura esguia e frágil e pensar o quão fácil seria fazê-lo. Às vezes, eu subia sorrateiro as escadas e o espreitava enquanto dormia, mas geralmente andava a esmo pelo jardim próximo à janela da sala onde ele estudava suas pequenas lições e, enquanto ele ficava ali sentado num banquinho ao lado de minha esposa, eu o espiava durante horas seguidas, por detrás de uma árvore; sobressaltando-me, canalha culpado que eu era, a cada farfalhar de uma folha, e ainda assim sempre me esgueirando para olhar e sobressaltarme de novo. Próximo à nossa pequena casa de campo, porém fora de vista, e (se houvesse qualquer ventinho) longe de quem pudesse nos ouvir também, havia um profundo lençol d’água. Passei dias talhando com meu canivete um modelo tosco de barco, que finalmente terminei e larguei no caminho da criança. Então retirei-me para um lugar escondido, por onde ele passaria se se afastasse por sua conta para fazer a bugiganga boiar na água, e aguardei sua chegada. Ele não apareceu naquele dia, nem no dia seguinte, embora eu esperasse desde o meio-dia até escurecer. Eu tinha certeza de que ele cairia em minha armadilha porque eu o tinha escutado tagarelando sobre o brinquedo e sabia que, em seu prazer infantil, guardava-o ao lado de sua cama. Não me senti abatido nem cansado, e esperei com paciência, e no terceiro dia ele passou por mim, correndo feliz da vida, o cabelo sedoso ondeando ao vento, cantando – Deus tenha piedade de mim! –, cantando uma balada bem alegre, ele que mal conseguia balbuciar as palavras. Eu me esgueirei atrás dele, rastejando sob alguns dos arbustos que crescem naquele lugar, e só os demônios sabem com que terror eu, um homem feito, segui as pegadas daquela criancinha à medida que ele se aproximava da beira d’água. Eu estava quase sobre ele, tinha me ajoelhado e levantara a mão para empurrá-lo, quando ele viu minha sombra na corrente e se virou. O fantasma de sua mãe estava me olhando com os olhos dele. O sol irrompeu por detrás de uma nuvem: resplandeceu no céu brilhante, na terra luzidia, na água translúcida, nas gotas cintilantes de chuva sobre as folhas. Havia olhos em tudo. Todo o grande universo de luz estava ali para ver o crime ser consumado. Não sei o que ele disse; ele era de uma estirpe audaz e varonil e, embora criança, não se agachou nem me bajulou. Eu o ouvi gritar que tentaria me amar – não que me amava – e então o vi correr de volta para casa. Tudo que vi a seguir foi a minha espada desembainhada na mão e ele caído aos meus pés, morto – salpicado aqui e ali de sangue, mas, fora isso, em nada diferente de como eu o tinha visto em seu sono – do mesmo jeito também, com o queixo apoiado em sua mãozinha. Eu o tomei em meus braços e o deitei – com muito cuidado, agora que estava morto – sobre um monte de galhos. Minha esposa estava ausente naquele dia e só retornaria no dia seguinte. A janela do nosso quarto, o único quarto de dormir daquele lado da casa, ficava a poucos pés do chão, e me decidi a descer por ali à noite e enterrá-lo no jardim. Eu não pensava que havia falhado em meu desígnio, não pensava que a água seria dragada e não encontrariam nada, que o dinheiro agora ficaria desperdiçado já que eu devia encorajar a ideia de que a criança estava perdida ou fora roubada. Todos os meus pensamentos estavam ligados e atados à absorvente necessidade de esconder o que eu tinha feito. Como eu me senti quando vieram me contar que a criança estava desaparecida, quando enviei batedores em todas as direções, quando eu me encolhia e tremia à aproximação de qualquer pessoa, nenhuma língua pode expressar, nenhuma mente humana pode conceber. Eu o enterrei naquela noite. Quando afastei os galhos e olhei dentro da moita escura, havia um pirilampo brilhando como o espírito visível de Deus sobre a criança morta. Dei uma olhada dentro da cova quando o coloquei ali, e o pirilampo ainda reluzia sobre o seu peito: um olho de fogo mirando o céu em súplica às estrelas que me vigiavam no trabalho. Tive que procurar por minha esposa e dar-lhe a notícia e dar-lhe esperanças de que a criança logo seria encontrada. Fiz tudo isso – suponho que com um aspecto sincero, pois não fui objeto de suspeita. Isto feito, sentei à janela do quarto o dia todo e vigiei o lugar onde jazia o abominável segredo. Era uma parte de terreno que tinha sido revolvida para receber grama nova e que eu tinha escolhido por esse motivo, pois os vestígios de minha pá provavelmente não chamariam a atenção. Os homens que colocaram a grama devem ter pensado que eu era maluco. Eu instava com eles continuamente para acelerarem o trabalho, saía de casa e trabalhava junto com eles, calcava a grama com os pés e os apressava com zelo frenético. Eles terminaram sua tarefa antes da noite, e então me senti relativamente seguro. Eu dormia – não como os homens que levantam revigorados e contentes, mas em verdade dormia passando de sonhos vagos e sombrios de estar sendo caçado a visões de um lote de grama através do qual ora uma das mãos, ora um dos pés, e depois a própria cabeça estava saindo para fora. Neste ponto, eu acordava e me esgueirava para a janela para me assegurar de que não era assim. Isso feito, rastejava para a cama outra vez, e assim passava a noite, aos chiliques e aos sobressaltos, levantando e deitando umas vinte vezes e sonhando o mesmo sonho sem cessar – o que era de longe pior do que ficar acordado, pois cada sonho trazia em si o sofrimento de uma noite inteira. Uma vez pensei que a criança estava viva e que eu nunca tinha tentado matá-la. Acordar desse sonho foi a pior de todas as agonias. No dia seguinte sentava à janela outra vez, sem nunca tirar os olhos do lugar que, embora coberto pela grama, estava tão claro para mim – sua forma, seu tamanho, sua profundidade, seus lados irregulares, tudo – como se estivesse exposto à luz do dia. Quando um empregado caminhava por cima, parecia-me que ia afundar ali; quando já havia passado, eu olhava para ver se não tinha estragado as beiradas. Se um pássaro pousava ali, eu ficava aterrorizado, temendo que, por algum imprevisto terrível, ele fosse o instrumento da descoberta; se uma aragem passasse por ali suspirando, ela sussurrava assassinato para mim. Não havia uma visão ou um som – por mais ordinários ou insignificantes que fossem – que não viessem carregados de pavor. E nesse vigiar incessante passei três dias. No quarto dia, apareceu no portão um homem que tinha servido comigo no exterior, acompanhado de um colega oficial que eu não conhecia. Senti que não conseguiria perder de vista o lugar. Era um entardecer de verão, e convidei meus companheiros para levarmos uma mesa e um frasco de vinho para o jardim. Então eu me sentei com a minha cadeira sobre o túmulo e, assegurando-me assim de que ninguém iria perturbar o lote de grama sem meu conhecimento, tentei beber e conversar. Eles desejaram que minha esposa estivesse bem – que ela não se sentisse obrigada a ficar em seus aposentos – que eles não a tivessem afugentado. O que mais eu poderia fazer a não ser contar com uma voz trêmula sobre a criança? O oficial que eu não conhecia era um homem cabisbaixo e mantinha os olhos fixos no chão enquanto eu falava. Até isso me aterrorizava! Eu não podia me livrar da ideia que ele tinha visto alguma coisa ali que o levava a suspeitar da verdade. Eu lhe perguntei apressadamente se ele supunha que – e parei. – Que a criança tenha sido assassinada? – perguntou, com um olhar manso. – Ah, não! O que alguém poderia ganhar matando uma pobre criança? – Eu poderia ter-lhe contado o que alguém pode ganhar com tal ato, ninguém melhor do que eu, mas me calei e tremi com um calafrio. Interpretando de modo equivocado a minha emoção, estavam tentando me consolar com a esperança de que o menino certamente seria encontrado – grande consolo que aquilo era para mim! – quando ouvimos um ganido grave e profundo, e em seguida saltaram sobre o muro dois enormes cachorros que, arremessando-se no jardim, repetiram o rosnado que ouvíramos antes. – Cães de caça! – gritaram meus visitantes. E era preciso que me dissessem! Nunca tinha visto um daquela raça em toda a minha vida, mas sabia por que e para que tinham vindo. Agarrei os braços da minha cadeira, não falei nada e nem me mexi. – E são de raça pura – disse o homem que eu havia conhecido no exterior –, e, se estavam precisando de exercício, sem dúvida fugiram de quem cuida deles. Tanto ele como seu amigo viraram-se para olhar para os cachorros, que, com os focinhos no chão, agitavam-se à volta, correndo para lá e para cá, para cima e para baixo, e em diagonal, e em círculos, correndo velozes como selvagens, e todo esse tempo sem tomar conhecimento de nós, mas sempre repetindo o rosnado que já tínhamos ouvido, e então baixando seus focinhos para o chão de novo e seguindo pistas aqui e ali muito compenetrados. Então começaram a cheirar a terra com mais intensidade do que já tinham feito até agora e, embora ainda estivessem muito inquietos, não andavam mais em grandes círculos, mas ficavam perto de um só lugar, cada vez mais diminuindo a distância entre mim e eles. Por fim aproximaram-se da grande cadeira onde eu estava sentado e, elevando seu apavorante ganido mais uma vez, tentaram rebentar as vigas de madeira que os mantinha longe do que havia abaixo do chão. Eu percebi qual era a minha aparência, pela cara dos dois que estavam comigo. – Eles farejam alguma presa – disseram os dois ao mesmo tempo. – Eles não farejam presa nenhuma – gritei. – Em nome de Deus, saia daí! – disse o meu conhecido, muito sério. – Ou você vai ser despedaçado. – Eles que me arranquem os braços e pernas, eu não vou nunca sair deste lugar! – gritei. – Será que cachorros devem levar homens a mortes vergonhosas? Que sejam abatidos, que sejam cortados em pedaços. – Tem algum mistério sórdido aqui! – disse o oficial que eu não conhecia, desembainhando sua espada. – Em nome do rei Carlos, ajude-me a segurar este homem.
Os dois me agarraram e me levaram à força dali, embora eu lutasse e mordesse e batesse neles como um louco. Depois de uma briga, puseram-me quieto no meio dos dois e então, meu Deus!, vi os cães raivosos rasgando a terra e atirando-a para cima como água. O que mais tenho a dizer? Que caí de joelhos e, batendo os dentes, confessei a verdade e roguei para ser perdoado. Que depois neguei, e agora confesso de novo. Que fui julgado pelo crime, considerado culpado e sentenciado. Que não tenho coragem de pensar em minha morte, ou de encará-la com bravura. Que não sou digno de compaixão, consolação, esperança, ou amizade. Que minha esposa felizmente perdeu as faculdades que lhe permitiriam saber da sua e da minha desgraça. Que estou sozinho nesta masmorra de pedra com meu caráter maligno, e que vou morrer amanhã!
Ocupei o posto de tenente no exército de Sua Majestade e servi no exterior nas campanhas de 1677 e 1678. Assinado o Tratado de Nimegen, voltei para casa e, me aposentando, retirei-me para uma pequena propriedade algumas milhas ao leste de Londres, que havia recentemente adquirido em nome de minha esposa. Esta é a última noite que tenho para viver, e revelarei a verdade nua e crua, sem nenhum disfarce. Nunca fui um homem destemido e, desde pequeno, sempre fui furtivo, rabugento e desconfiado. Falo de mim como se já tivesse deixado este mundo, pois, enquanto escrevo, minha sepultura está sendo cavada, e meu nome está gravado no livro negro da morte. Logo após meu retorno à Inglaterra, meu único irmão foi acometido de uma doença mortal. Senti pouca ou nenhuma dor pelo acontecido porque, desde que nos tornamos adultos, nos víamos muito pouco. Ele era franco, generoso, mais bonito do que eu, mais bem-sucedido, e todos gostavam muito dele. Aqueles que buscavam minha companhia no exterior ou em casa porque eram amigos dele raramente se apegavam a mim por muito tempo e diziam, logo em nossa primeira conversa, que ficavam surpresos em encontrar dois irmãos tão diferentes nos modos e na aparência. Era costume meu induzi-los a essa declaração, porque eu sabia que tipo de comparações deviam fazer entre nós dois e, tendo uma inveja pungente em meu coração, eu procurava justificá-la para mim mesmo. Nós havíamos casado com duas irmãs. Este laço adicional entre nós, como podia parecer a alguns, apenas serviu para nos apartar ainda mais. A esposa dele me conhecia bem. Eu não ficava lutando contra meu ciúme secreto ou rancor quando ela estava presente, no entanto aquela mulher sabia disso tão bem quanto eu. Eu nunca levantava os olhos quando os dela fixavam-se em mim, eu não baixava o olhar nem olhava noutra direção, mas percebia que ela me vigiava sempre. Era um alívio inexprimível para mim quando brigávamos, e foi um alívio ainda maior quando soube, no exterior, que ela morrera. Parece-me agora que um estranho e terrível pressentimento sobre o que aconteceu desde então deve ter rondado sobre nós. Eu tinha medo dela, ela pairava sobre mim como uma assombração; seu olhar fixo e firme retorna agora à minha mente como a lembrança de um sonho soturno e faz gelar o meu sangue. Ela morreu pouco depois de ter dado à luz uma criança – um menino. Quando meu irmão soube que não havia mais esperanças de recuperação para si próprio, chamou a minha esposa à cabeceira de seu leito e confioulhe esse órfão, uma criança de quatro anos, aos seus cuidados. Meu irmão legou a ele todos os seus bens e deixou expresso em seu testamento que, no caso de a criança vir a morrer, tudo passaria para o nome de minha esposa, único reconhecimento que ele poderia ter pelos cuidados dela e seu amor. Ele trocou algumas palavras fraternais comigo, deplorando nossa longa separação, e, exaurido, caiu num sono letárgico do qual nunca acordou. Nós não tínhamos filhos e, como tinha havido uma profunda afeição entre as irmãs, e tendo minha esposa praticamente ocupado o lugar de mãe para o menino, ela amou-o como se fosse dela mesma. Ele era extremamente apegado a ela; no entanto, era a imagem da mãe em rosto e espírito e sempre desconfiou de mim. Eu mal posso fixar a data em que a impressão surgiu, mas passei a ficar incomodado quando essa criança estava por perto. Sempre que me desvencilhava de pensamentos sombrios, notava que ele estivera me observando: não com uma admiração infantil, mas com algo do propósito e da significação que tantas vezes eu notara em sua mãe. Não era um esforço da minha imaginação, baseava-se na grande semelhança de feições e expressão. Nunca pude dominar o menino com o olhar. Ele tinha medo de mim, mas parecia que, ao mesmo tempo, por algum instinto, me desprezava; e, mesmo quando retrocedia sob meu olhar – como acontecia quando estávamos a sós, e para chegar-se para mais perto da porta –, ainda assim ele mantinha seus olhos brilhantes em mim. Talvez eu esconda de mim mesmo a verdade, mas não penso que, quando tudo isto começou, eu já tivesse cogitado fazer-lhe algum mal. Posso ter refletido o quanto a herança dele nos serviria e posso ter desejado sua morte, mas acredito que não me ocorreu planejar sua morte. Nem essa ideia surgiu de repente, mas, pelo contrário, pouco a pouco, apresentando-se de início sob forma vaga, como que à distância, como quando alguém pensa sobre um terremoto ou sobre o fim dos tempos – aí, então, vai se aproximando mais e mais e vai perdendo algo de seu horror e improbabilidade – e então vai se tornando parte e parcela... não, quase toda a soma e substância de meus pensamentos diários, e reduzindo-se a uma questão de recursos e segurança; não de executar o ato ou dele abster-se. À medida que isso ia se passando comigo, não suportava que a criança me surpreendesse olhando para ela, e, no entanto, ela me fascinava a ponto de se tornar uma espécie de ocupação para mim: contemplar sua figura esguia e frágil e pensar o quão fácil seria fazê-lo. Às vezes, eu subia sorrateiro as escadas e o espreitava enquanto dormia, mas geralmente andava a esmo pelo jardim próximo à janela da sala onde ele estudava suas pequenas lições e, enquanto ele ficava ali sentado num banquinho ao lado de minha esposa, eu o espiava durante horas seguidas, por detrás de uma árvore; sobressaltando-me, canalha culpado que eu era, a cada farfalhar de uma folha, e ainda assim sempre me esgueirando para olhar e sobressaltarme de novo. Próximo à nossa pequena casa de campo, porém fora de vista, e (se houvesse qualquer ventinho) longe de quem pudesse nos ouvir também, havia um profundo lençol d’água. Passei dias talhando com meu canivete um modelo tosco de barco, que finalmente terminei e larguei no caminho da criança. Então retirei-me para um lugar escondido, por onde ele passaria se se afastasse por sua conta para fazer a bugiganga boiar na água, e aguardei sua chegada. Ele não apareceu naquele dia, nem no dia seguinte, embora eu esperasse desde o meio-dia até escurecer. Eu tinha certeza de que ele cairia em minha armadilha porque eu o tinha escutado tagarelando sobre o brinquedo e sabia que, em seu prazer infantil, guardava-o ao lado de sua cama. Não me senti abatido nem cansado, e esperei com paciência, e no terceiro dia ele passou por mim, correndo feliz da vida, o cabelo sedoso ondeando ao vento, cantando – Deus tenha piedade de mim! –, cantando uma balada bem alegre, ele que mal conseguia balbuciar as palavras. Eu me esgueirei atrás dele, rastejando sob alguns dos arbustos que crescem naquele lugar, e só os demônios sabem com que terror eu, um homem feito, segui as pegadas daquela criancinha à medida que ele se aproximava da beira d’água. Eu estava quase sobre ele, tinha me ajoelhado e levantara a mão para empurrá-lo, quando ele viu minha sombra na corrente e se virou. O fantasma de sua mãe estava me olhando com os olhos dele. O sol irrompeu por detrás de uma nuvem: resplandeceu no céu brilhante, na terra luzidia, na água translúcida, nas gotas cintilantes de chuva sobre as folhas. Havia olhos em tudo. Todo o grande universo de luz estava ali para ver o crime ser consumado. Não sei o que ele disse; ele era de uma estirpe audaz e varonil e, embora criança, não se agachou nem me bajulou. Eu o ouvi gritar que tentaria me amar – não que me amava – e então o vi correr de volta para casa. Tudo que vi a seguir foi a minha espada desembainhada na mão e ele caído aos meus pés, morto – salpicado aqui e ali de sangue, mas, fora isso, em nada diferente de como eu o tinha visto em seu sono – do mesmo jeito também, com o queixo apoiado em sua mãozinha. Eu o tomei em meus braços e o deitei – com muito cuidado, agora que estava morto – sobre um monte de galhos. Minha esposa estava ausente naquele dia e só retornaria no dia seguinte. A janela do nosso quarto, o único quarto de dormir daquele lado da casa, ficava a poucos pés do chão, e me decidi a descer por ali à noite e enterrá-lo no jardim. Eu não pensava que havia falhado em meu desígnio, não pensava que a água seria dragada e não encontrariam nada, que o dinheiro agora ficaria desperdiçado já que eu devia encorajar a ideia de que a criança estava perdida ou fora roubada. Todos os meus pensamentos estavam ligados e atados à absorvente necessidade de esconder o que eu tinha feito. Como eu me senti quando vieram me contar que a criança estava desaparecida, quando enviei batedores em todas as direções, quando eu me encolhia e tremia à aproximação de qualquer pessoa, nenhuma língua pode expressar, nenhuma mente humana pode conceber. Eu o enterrei naquela noite. Quando afastei os galhos e olhei dentro da moita escura, havia um pirilampo brilhando como o espírito visível de Deus sobre a criança morta. Dei uma olhada dentro da cova quando o coloquei ali, e o pirilampo ainda reluzia sobre o seu peito: um olho de fogo mirando o céu em súplica às estrelas que me vigiavam no trabalho. Tive que procurar por minha esposa e dar-lhe a notícia e dar-lhe esperanças de que a criança logo seria encontrada. Fiz tudo isso – suponho que com um aspecto sincero, pois não fui objeto de suspeita. Isto feito, sentei à janela do quarto o dia todo e vigiei o lugar onde jazia o abominável segredo. Era uma parte de terreno que tinha sido revolvida para receber grama nova e que eu tinha escolhido por esse motivo, pois os vestígios de minha pá provavelmente não chamariam a atenção. Os homens que colocaram a grama devem ter pensado que eu era maluco. Eu instava com eles continuamente para acelerarem o trabalho, saía de casa e trabalhava junto com eles, calcava a grama com os pés e os apressava com zelo frenético. Eles terminaram sua tarefa antes da noite, e então me senti relativamente seguro. Eu dormia – não como os homens que levantam revigorados e contentes, mas em verdade dormia passando de sonhos vagos e sombrios de estar sendo caçado a visões de um lote de grama através do qual ora uma das mãos, ora um dos pés, e depois a própria cabeça estava saindo para fora. Neste ponto, eu acordava e me esgueirava para a janela para me assegurar de que não era assim. Isso feito, rastejava para a cama outra vez, e assim passava a noite, aos chiliques e aos sobressaltos, levantando e deitando umas vinte vezes e sonhando o mesmo sonho sem cessar – o que era de longe pior do que ficar acordado, pois cada sonho trazia em si o sofrimento de uma noite inteira. Uma vez pensei que a criança estava viva e que eu nunca tinha tentado matá-la. Acordar desse sonho foi a pior de todas as agonias. No dia seguinte sentava à janela outra vez, sem nunca tirar os olhos do lugar que, embora coberto pela grama, estava tão claro para mim – sua forma, seu tamanho, sua profundidade, seus lados irregulares, tudo – como se estivesse exposto à luz do dia. Quando um empregado caminhava por cima, parecia-me que ia afundar ali; quando já havia passado, eu olhava para ver se não tinha estragado as beiradas. Se um pássaro pousava ali, eu ficava aterrorizado, temendo que, por algum imprevisto terrível, ele fosse o instrumento da descoberta; se uma aragem passasse por ali suspirando, ela sussurrava assassinato para mim. Não havia uma visão ou um som – por mais ordinários ou insignificantes que fossem – que não viessem carregados de pavor. E nesse vigiar incessante passei três dias. No quarto dia, apareceu no portão um homem que tinha servido comigo no exterior, acompanhado de um colega oficial que eu não conhecia. Senti que não conseguiria perder de vista o lugar. Era um entardecer de verão, e convidei meus companheiros para levarmos uma mesa e um frasco de vinho para o jardim. Então eu me sentei com a minha cadeira sobre o túmulo e, assegurando-me assim de que ninguém iria perturbar o lote de grama sem meu conhecimento, tentei beber e conversar. Eles desejaram que minha esposa estivesse bem – que ela não se sentisse obrigada a ficar em seus aposentos – que eles não a tivessem afugentado. O que mais eu poderia fazer a não ser contar com uma voz trêmula sobre a criança? O oficial que eu não conhecia era um homem cabisbaixo e mantinha os olhos fixos no chão enquanto eu falava. Até isso me aterrorizava! Eu não podia me livrar da ideia que ele tinha visto alguma coisa ali que o levava a suspeitar da verdade. Eu lhe perguntei apressadamente se ele supunha que – e parei. – Que a criança tenha sido assassinada? – perguntou, com um olhar manso. – Ah, não! O que alguém poderia ganhar matando uma pobre criança? – Eu poderia ter-lhe contado o que alguém pode ganhar com tal ato, ninguém melhor do que eu, mas me calei e tremi com um calafrio. Interpretando de modo equivocado a minha emoção, estavam tentando me consolar com a esperança de que o menino certamente seria encontrado – grande consolo que aquilo era para mim! – quando ouvimos um ganido grave e profundo, e em seguida saltaram sobre o muro dois enormes cachorros que, arremessando-se no jardim, repetiram o rosnado que ouvíramos antes. – Cães de caça! – gritaram meus visitantes. E era preciso que me dissessem! Nunca tinha visto um daquela raça em toda a minha vida, mas sabia por que e para que tinham vindo. Agarrei os braços da minha cadeira, não falei nada e nem me mexi. – E são de raça pura – disse o homem que eu havia conhecido no exterior –, e, se estavam precisando de exercício, sem dúvida fugiram de quem cuida deles. Tanto ele como seu amigo viraram-se para olhar para os cachorros, que, com os focinhos no chão, agitavam-se à volta, correndo para lá e para cá, para cima e para baixo, e em diagonal, e em círculos, correndo velozes como selvagens, e todo esse tempo sem tomar conhecimento de nós, mas sempre repetindo o rosnado que já tínhamos ouvido, e então baixando seus focinhos para o chão de novo e seguindo pistas aqui e ali muito compenetrados. Então começaram a cheirar a terra com mais intensidade do que já tinham feito até agora e, embora ainda estivessem muito inquietos, não andavam mais em grandes círculos, mas ficavam perto de um só lugar, cada vez mais diminuindo a distância entre mim e eles. Por fim aproximaram-se da grande cadeira onde eu estava sentado e, elevando seu apavorante ganido mais uma vez, tentaram rebentar as vigas de madeira que os mantinha longe do que havia abaixo do chão. Eu percebi qual era a minha aparência, pela cara dos dois que estavam comigo. – Eles farejam alguma presa – disseram os dois ao mesmo tempo. – Eles não farejam presa nenhuma – gritei. – Em nome de Deus, saia daí! – disse o meu conhecido, muito sério. – Ou você vai ser despedaçado. – Eles que me arranquem os braços e pernas, eu não vou nunca sair deste lugar! – gritei. – Será que cachorros devem levar homens a mortes vergonhosas? Que sejam abatidos, que sejam cortados em pedaços. – Tem algum mistério sórdido aqui! – disse o oficial que eu não conhecia, desembainhando sua espada. – Em nome do rei Carlos, ajude-me a segurar este homem.
Os dois me agarraram e me levaram à força dali, embora eu lutasse e mordesse e batesse neles como um louco. Depois de uma briga, puseram-me quieto no meio dos dois e então, meu Deus!, vi os cães raivosos rasgando a terra e atirando-a para cima como água. O que mais tenho a dizer? Que caí de joelhos e, batendo os dentes, confessei a verdade e roguei para ser perdoado. Que depois neguei, e agora confesso de novo. Que fui julgado pelo crime, considerado culpado e sentenciado. Que não tenho coragem de pensar em minha morte, ou de encará-la com bravura. Que não sou digno de compaixão, consolação, esperança, ou amizade. Que minha esposa felizmente perdeu as faculdades que lhe permitiriam saber da sua e da minha desgraça. Que estou sozinho nesta masmorra de pedra com meu caráter maligno, e que vou morrer amanhã!
PARA SER LIDO AO ANOITECER
Um, dois, três, quatro, cinco. Eles eram cinco. Cinco couriers,5 sentados num banco do lado de fora do convento erigido no topo do monte Grande São Bernardo, na Suíça, contemplando os picos remotos matizados pelo sol que desaparecia, como se uma grande quantidade de vinho tinto tivesse se derramado no topo da montanha e ainda não tivera tempo suficiente para afundar na neve. Essa imagem não é minha. Foi feita, naquele momento, pelo courier mais robusto, que era um alemão. Nenhum dos outros havia se dado conta do fato, e tampouco de mim, sentado em outro banco, no lado oposto da porta do convento, fumando como eles o meu charuto e, também como eles, olhando a neve avermelhada e uma cabana solitária não muito distante dali, onde os corpos de viajantes surpreendidos pela noite lentamente definham sem se decompor, tal o frio da região. O vinho foi se diluindo no topo da montanha enquanto olhávamos; ela se tornou branca; o céu, de um azul profundo; o vento soprou; e o ar tornou-se de um frio cortante. Os cinco couriers abotoaram seus casacos rústicos. Não havendo ninguém mais digno de ser imitado nesse tipo de providência do que um courier, abotoei o meu. A montanha ao pôr do sol tinha interrompido a conversa dos cinco couriers. É uma vista sublime, própria para interromper uma conversa. A montanha estando agora sem o pôr do sol, eles retomaram o assunto. Não que eu tivesse ouvido algo do seu diálogo precedente, pois um pouco antes, na verdade, eu ainda estava com o cavalheiro americano, no salão do convento destinado a viajantes. Sentado em frente à lareira, ele tinha tentado me fazer entender o curso dos acontecimentos que levaram o honorável Ananias Dodger a acumular uma das maiores fortunas em dólares jamais amealhadas em um só país. – Meu Deus! – disse o mensageiro suíço, falando em francês, o que eu não apoio como sendo uma boa desculpa (como alguns autores o fazem) para uma palavra de baixo calão, e que basta que eu escreva nessa língua para que pareça inocente. – Se você está falando de fantasmas... – Mas eu não estou falando de fantasmas – disse o alemão. – Do quê, então? – perguntou o suíço. – Se eu soubesse do quê, naquela época – disse o alemão –, eu provavelmente deveria saber muito mais. Era uma boa resposta, pensei, e despertou minha curiosidade. Então mudei de lugar no banco, de modo a ficar mais próximo deles, e, encostando-me na parede do convento, pude ouvir perfeitamente, sem que parecesse estar prestando atenção. – Raios que me partam!– disse o alemão, entusiasmando-se. – Quando alguém está pensando em visitar você, sem ser esperado, e, sem que se dê conta, envia algum mensageiro invisível para colocar a lembrança dele em sua cabeça o dia inteiro, que nome você dá a isso? Quando você anda numa rua apinhada de gente, em Frankfurt, Milão, Londres ou Paris, e acha que um desconhecido que vai passando é parecido com seu amigo Heinrich, e então outro desconhecido que vai passando parece o seu amigo Heinrich e daí você começa a ter um estranho pressentimento de que você logo vai se encontrar com seu amigo Heinrich, o que acontece, apesar de achar que ele estava em Trieste... que nome você dá a isso? – O que também não é fora do comum – murmuraram o suíço e os outros três. – Fora do comum! – disse o alemão. – É tão comum como cerejas na Floresta Negra. Tão comum como macarrão em Nápoles. E Nápoles me faz lembrar! Quando a velha marquesa Senzanima solta seus guinchos numa reunião de jogo de cartas no Hotel Chiaja, de Nápoles, e isso eu vi e ouvi, pois aconteceu no ramo bávaro da minha família, e eu estava supervisionando os empregados naquela noite. Eu lhes digo: quando a velha marquesa se levanta da mesa de jogo, lívida sob a maquiagem, e grita: “Minha irmã que mora na Espanha morreu! Senti o toque gelado dela nas minhas costas!”, e quando aquela irmã morre naquele exato momento, que nome você dá a isso? – Ou quando o sangue de San Gennaro se liquefaz a pedido do clero, como todo mundo sabe que acontece regularmente uma vez por ano, na minha cidade natal – disse o courier napolitano depois de uma pausa, com um olhar piadista –, que nome você dá a isso? – Isso! – gritou o alemão. – Bem, acho que eu tenho um nome para isso. – Milagre? – disse o napolitano, com o mesmo ar de zombaria. O alemão apenas fumou e riu; e todos eles fumaram e riram. – Que nada! – exclamou o alemão logo em seguida. – Estou falando de coisas que realmente acontecem. Quando eu quero consultar um vidente, pago um profissional e faço valer o meu dinheiro. Coisas estranhas acontecem sem fantasmas. Fantasmas! Giovanni Baptista, conte a sua história da noiva inglesa. Não tem fantasmas nela, mas alguma coisa igualmente estranha. Será que alguém vai poder me dizer o que é? Como houve um silêncio entre eles, olhei o grupo. Aquele que me pareceu ser Baptista estava acendendo um novo charuto. Em seguida, iniciou o seu relato. Era um genovês, segundo os meus critérios. – A história da noiva inglesa? – disse ele. – Basta! Não se deve chamar de insignificante uma história dessas. Bem, tanto faz. Mas é verdade. Vejam bem, cavalheiros, é verdade. Nem tudo o que reluz é ouro, mas o que vou contar é verdade. E repetiu isso mais de uma vez. Há dez anos, levei minhas credenciais ao Long’s Hotel, na Bond Street, em Londres, para um cavalheiro inglês que se preparava para viajar – por um ano, ou talvez dois. Ele as aprovou, bem como a mim. Ficou satisfeito com a entrevista, e minhas cartas de recomendação eram favoráveis. Ele me empregou por seis meses, e as condições oferecidas eram generosas. Ele era jovem, bonito, muito feliz. Estava enamorado de uma jovem e bela lady inglesa, com uma fortuna razoável, e iam se casar. Em resumo, era a viagem de lua de mel que íamos empreender. Para uma estadia de três meses em clima quente (era o início do verão), ele tinha alugado uma velha mansão na Riviera, não muito distante da cidade, Gênova, no caminho para Nice. Se eu conhecia o lugar? Sim, eu lhe havia dito que conhecia bem. Era um velho palácio, com grandes jardins. Era um pouco vazio, um pouco escuro e tristonho, pois era cercado de árvores, mas era espaçoso, antigo, suntuoso, e à beira-mar. Ele disse que correspondia à descrição que lhe fora dada e ficava contente por eu conhecer o lugar. Quanto a ter pouco mobiliário, isso era comum nesses lugares. Quanto a ser um pouco triste, ele tinha alugado a casa principalmente pelos jardins, e ele e a esposa passariam o verão à sombra das árvores. – Então está tudo bem, Baptista? – perguntou. – Indubitavelmente, signore, muito bem. Tínhamos uma carruagem de viagem para nossa jornada, recém montada para nós e completa no que se necessita. O casamento foi celebrado. Eles estavam muito felizes. Eu estava feliz, vendo que tudo estava certo, estando eu tão bem colocado, indo para minha própria cidade na parte traseira da carruagem, ensinando meu idioma à empregada, la bella Carolina, cujo coração alegrava-se com risadas; Carolina, que era jovem e corada. O tempo voou. Mas eu observei – escutem-me, eu suplico! (e aqui o mensageiro baixou a voz) –, observei que minha patroa às vezes andava taciturna, de um jeito esquisito; um jeito amedrontado; um jeito infeliz; como se estivesse sob uma nuvem de sobressaltos indefinidos. Acho que comecei a notar isso quando estava subindo as colinas ao lado da carruagem, e o meu patrão tinha ido na frente. Seja como for, lembro que me impressionou, em um fim de tarde no sul da França, quando ela me pediu para chamar o patrão de volta e, ao retornar, caminhando um bom trecho, ele a encorajou com palavras e mostrou-se afetuoso, tomando a mão dela na sua pela janela aberta. Às vezes ele ria jovialmente, como se quisesse desviar a atenção dela de alguma coisa. Aqui e ali ela ria, e tudo voltou a ficar bem. Foi curioso. Interroguei la bella Carolina, a mimosinha. – A patroa não anda bem? – Não. – Amuada? – Não. – Com medo de estradas ruins e salteadores? – Não. E o mais misterioso era que a mimosinha não me encarava ao responder, mas dirigia o olhar para a paisagem. Até que um dia ela me contou o segredo. – Se você quer saber – disse Carolina –, acho, do que ouvi por aí, que a patroa vem tendo uma assombração. – Como, assombração? – Um sonho. – Que sonho? – O sonho dum rosto. Nas três noites antes do casamento, ela viu um rosto num sonho, sempre o mesmo, e um rosto só. – Um rosto horrível? – Não. O rosto de um homem moreno, de aparência marcante, de preto, com cabelos pretos e bigode grisalho. Um homem bonito, a não ser por seu jeito taciturno e furtivo. Não era o rosto de ninguém conhecido, nem parecido com ninguém. Não fazia nada, no sonho, só ficava olhando fixamente para ela, destacando-se na escuridão. – O sonho sempre volta? – Nunca. A lembrança é que é o tormento dela. – E por que é um tormento? Carolina sacudiu a cabeça. – Essa é a pergunta do patrão – disse la bella. – Ela não sabe. Ela fica pensando, ela mesma. Mas eu ouvi quando ela disse pra ele, justo ontem à noite, que, se ela encontrasse um retrato daquele rosto na nossa casa italiana (e ela acha que vai encontrar), ela não sabia dizer se iria aguentar. Palavra de honra, depois disso, fiquei com medo (disse o mensageiro genovês) da nossa ida para o velho palazzo, se porventura um tal quadro, por um mau fado, pudesse estar ali. Eu sabia que havia muitos quadros na casa e, à medida que nos aproximávamos do lugar, desejei que toda a pinacoteca estivesse na cratera do Vesúvio. E, para piorar as coisas, chegamos à noitinha naquela parte da Riviera, junto com uma tempestade tremenda. Trovejava, e os trovões da minha cidade e arredores, ribombando pelos montes, fazem muito barulho. Os lagartos saíam e entravam por entre as fendas do muro de pedra do jardim, como se estivessem com medo; os sapos espumavam e coaxavam no volume máximo; a brisa do mar gemia, e as árvores molhadas pingavam; e os relâmpagos – pelo corpo sagrado de meu São Lourenço, como relampejava! Todos sabíamos o que é um palácio antigo em Gênova, ou nos arredores – como o tempo e a maresia vão manchando tudo – como os afrescos descascam e passam a ser grandes flocos de reboco nas paredes externas – como as janelas inferiores ficam escurecidas pelo enferrujado das barras de ferro – como o pátio é tomado pela grama crescida – como o prédio fica dilapidado por fora – como toda a edificação parece fadada a ruir. Nosso palazzo era um perfeito exemplo disso. Tinha permanecido fechado durante meses. Meses? – anos! – tinha cheiro de terra, como uma tumba. O odor das laranjeiras no amplo terraço dos fundos e dos limões amadurecendo por cima dos muros, e de alguns arbustos que cresciam ao redor de um chafariz estragado, tinham entrado na casa de algum modo e nunca mais haviam saído. Sentia-se, nos interiores sempre fechados, um cheiro de coisas velhas e guardadas. Esse cheiro incrustara-se nos armários e gavetas. Nas saletas de comunicação entre os grandes cômodos da casa, ele sufocava. Se você virasse um quadro – voltando ao assunto dos quadros –, ele ainda estava ali, grudado à parede atrás da moldura, como uma espécie de morcego. Os postigos de treliça estavam trancados em toda a casa, que estava sob os cuidados de duas velhas grisalhas e feias; uma delas, com um fuso, ficava fiando e resmungando bem na porta da frente, e teria dado passagem tanto para o ar como para o diabo. O meu patrão e a patroa e la bella Carolina e eu andamos por todo o palazzo. Fui andando à frente, apesar de ter me citado por último, e abrindo as janelas e os postigos, sacudindo os pingos de chuva e restos de argamassa, aqui e ali um mosquito sonolento ou uma monstruosa, gorda, colorida aranha genovesa. Assim que eu fazia entrar a luz do crepúsculo num aposento, o patrão e a patroa e la bella Carolina entravam também. Então olhávamos todos os quadros ao nosso redor, e eu seguia adiante para o próximo aposento. A patroa tinha um grande medo de se deparar com a cópia daquele rosto – nós todos tínhamos medo; mas nada apareceu. A Madona e o Menino, São Francisco, São Sebastião, Vênus, Santa Catarina, Anjos, Salteadores, Frades, Templos ao pôr do sol, Batalhas, Cavalos Brancos, Florestas, Apóstolos, Doges, todos os meus velhos conhecidos repetidamente copiados? – sim. Belo homem moreno de preto, taciturno e furtivo, de cabelos pretos e bigode grisalho, olhar fixado em minha patroa, destacando-se na escuridão? – não. Examinamos, enfim, todos os aposentos e todos os quadros e fomos para os jardins. Estavam razoavelmente bem conservados, arrendados por um jardineiro, e eram grandes, com boa sombra. Num recanto havia um teatro rústico, a céu aberto; o palco, uma rampa verde; os bastidores, três entradas laterais, com tabiques de folhas de odor adocicado. A patroa movia seus olhos brilhantes, até mesmo nesse lugar, como se fosse ver o rosto surgir em cena; mas tudo estava em ordem. – Agora, Clara – disse o patrão, sussurrando –, você já viu que não tem nada. E você está feliz. A patroa ficou encorajada. Logo se acostumou com aquele palazzo soturno e passou a cantar, tocar harpa e copiar as velhas pinturas; passeava com o patrão sob as árvores verdes e as parreiras. Ela era linda. Ele estava feliz. Ele até ria e me dizia, montando seu cavalo para a cavalgada antes do calor do dia: – Tudo vai bem, Baptista! – Sim, signore, graças a Deus, muito bem. Éramos só nós ali. Levei la bella ao Duomo e à Annunciata, ao Café, à Ópera, ao Festival do vilarejo, ao Parque Público, ao Teatro Vespertino, aos Marionetti. A mimosinha encantou-se com tudo o que viu. Aprendeu italiano – céus! – miraculosamente! E a patroa tinha se esquecido daquele sonho?, perguntei a Carolina algumas vezes. – Praticamente – disse la bella –, quase esqueceu. Estava sumindo. Um dia, o patrão recebeu uma carta e me chamou.
– Baptista! – Signore! – Um cavalheiro que me foi apresentado jantará aqui hoje. Ele se chama Signore Dellombra. Faça com que seja um jantar principesco. Era um sobrenome esquisito. Eu nunca tinha ouvido. Mas ultimamente muitos nobres e cavalheiros, perseguidos na Áustria por suspeitas políticas, tinham alterado seus nomes. Este poderia ser um. Altro! Dellombra era um nome tão bom para mim como qualquer outro. Quando o Signore Dellombra chegou para o jantar (disse o courier genovês em voz baixa, como já havia feito antes), eu o conduzi ao salão de visitas, a grande sala do velho palazzo. O patrão recebeu-o cordialmente e apresentou-o a sua esposa. Ao erguer-se para cumprimentá-lo, o semblante dela mudou, ela deu um grito e caiu desmaiada no piso de mármore. Então me virei para o Signore Dellombra e vi que ele vestia negro, tinha um ar taciturno e furtivo e era um belo homem, moreno, de cabelos pretos e bigode grisalho. O patrão ergueu a esposa nos braços e carregou-a para o quarto, para onde mandei la bella Carolina de imediato. La bella me disse, mais tarde, que a patroa quase morreu de susto, e que revolveu em sua mente o sonho durante toda a noite. O patrão estava agastado e ansioso, quase raivoso, mas, ainda assim, muito solícito. O Signore Dellombra era um homem cortês e referiuse com respeito e simpatia ao fato de a madame estar tão doente. O vento que chegava da África vinha soprando havia alguns dias (foi o que lhe contaram em seu hotel da Cruz de Malta), e ele sabia que aquilo costumava ser prejudicial. Ele desejava o pronto restabelecimento da bela senhora. Pediu licença para se retirar, para renovar sua visita quando tivesse a felicidade de ser informado de sua melhora. O patrão não permitiu que se retirasse, e jantaram os dois a sós. Ele se retirou cedo. No dia seguinte, apresentou-se no portão, a cavalo, para perguntar sobre a patroa. E assim o fez duas ou três vezes naquela semana. O que eu observei, e la bella Carolina me contou, me deixou claro que agora o patrão havia colocado todo o seu empenho em curar a patroa de seu terror imaginário. Ele era todo bondade, mas era também firme e guiado pelo bom-senso. Ponderava com ela que encorajar tais fantasias seria um convite à melancolia,6 quiçá à loucura. Que dependia dela permanecer sendo ela mesma. Que uma vez que ela resistisse àquela estranha fraqueza, recebendo elegantemente o Signore Dellombra, como uma lady inglesa recebe qualquer convidado, aquilo estaria sob controle para sempre. Para resumir a história, o Signore retornou, a patroa o recebeu sem maior aflição (apesar de algum constrangimento e certa apreensão), e a noite decorreu serena. O patrão estava tão deliciado com a mudança, e tão ansioso por confirmá-la, que o Signore Dellombra tornou-se um convidado constante. Ele era um conhecedor de pinturas, livros e música, e sua companhia, em qualquer palazzo lúgubre, teria sido muito bem-vinda.
Eu notava, com frequência, que a patroa não estava totalmente recuperada. Ela baixava os olhos e a cabeça diante do Signore Dellombra, ou mirava-o com um olhar de terror e fascinação, como se sua presença tivesse alguma influência maléfica, ou algum poder sobre ela. Após observá-la, eu percebia que ele, andando nos jardins umbrosos, ou na grande sala parcialmente iluminada, olhava, por assim dizer, “fixamente para ela, destacando-se na escuridão”. Mas, na verdade, eu não tinha esquecido as palavras da bella Carolina descrevendo o rosto do sonho. Depois da segunda visita, ouvi o patrão dizer: –Veja, minha querida Clara, acabou! Dellombra vem e vai, e a sua apreensão, minha querida, fez-se em pedaços, como vidro que se estilhaça. – Ele... ele vai aparecer de novo? – perguntou a patroa. – De novo? Ora, com certeza, muitas e muitas vezes! Você está com frio? – (ela tivera um calafrio). – Não, querido. Mas ele me apavora. Você tem certeza de que ele vai aparecer de novo? – Mais do que nunca, Clara! – respondeu o patrão, alegremente. A esperança dele em sua total recuperação, agora, parecia-lhe possível e crescia a cada dia. Ela era linda. Ele estava feliz. – Tudo vai bem, Baptista? – ele repetia para mim. – Sim, Signore, tudo bem, graças a Deus. Nós fomos todos (disse o courier genovês, forçando-se a falar um pouco mais alto), fomos todos a Roma para o Carnaval. Eu tinha passado um dia fora, com um siciliano meu amigo, ele também courier, que estava ali com uma família inglesa. Ao retornar à noite para o meu hotel, encontrei a pequena Carolina, que nunca se animava a sair sozinha de casa, andando para lá e para cá, desorientada, pelo corso. – Carolina, o que está havendo? – Ah, Baptista, ah, pelo amor de Deus! Onde está a minha patroa? – A patroa, Carolina? – Desapareceu, desde a manhã, e ela me disse que, quando o patrão saiu para seu passeio matinal diário, não era para chamá-la, porque ela estava cansada porque não tinha dormido bem à noite (com dores) e que ia ficar na cama o dia todo e depois então levantaria renovada. Ela desapareceu! Ela desapareceu! O patrão voltou, pôs a porta abaixo, e ela tinha desaparecido! Minha bela, minha bondosa, minha inocente patroa! A mimosinha chorava e se exclamava e se agitava, tanto que eu não teria como segurá-la se ela não tivesse desfalecido em meus braços, de repente, como se tivesse levado um tiro. O patrão apareceu – nos modos, no rosto e na voz, não mais o patrão que eu conhecia. Levou-me com ele (deixei a mimosa em sua cama, no hotel, com a camareira) numa carruagem, de maneira furiosa, através da escuridão, cortando a Campagna deserta. Quando o dia raiou e paramos num miserável posto para troca de cavalos, todos tinham sido alugados doze horas antes, enviados para destinos diversos. Agora, prestem atenção: pelo Signore Dellombra, que tinha passado ali numa carruagem, com uma lady inglesa, amedrontada, encolhida num canto. Nunca soube (disse o courier genovês, inspirando fundo) que ela tivesse jamais sido procurada além desse ponto. Tudo o que sei é que ela desapareceu num olvido abominável, tendo ao seu lado o rosto tão temido que vira num sonho. – E que nome você dá a isso? – perguntou o courier alemão, triunfante. – Fantasmas! Não há fantasmas lá! Como vão chamar a isto que estou prestes a lhes contar? Fantasmas! Não há fantasmas aqui! Eu, uma vez, me empreguei (prosseguiu o courier alemão) a serviço de um cavalheiro inglês, idoso e solteirão, para acompanhá-lo em viagem ao meu país, minha terra natal. Ele era um comerciante que negociava com meu país e conhecia o idioma, mas que não estivera ali desde criança – creio que fazia bem uns sessenta anos. Seu nome era James e ele tinha um irmão gêmeo, John, também solteirão. Uma grande afeição os unia. Trabalhavam juntos, na Empresa Goodman’s Fields, mas não moravam juntos. Mr. James morava na Polland Street, quase esquina com Oxford Street, em Londres; Mr. John residia próximo à Floresta Epping. Mr. James e eu devíamos partir para a Alemanha dali a uma semana. O dia exato dependeria dos negócios. Mr. John veio passar aquela semana na Polland Street (onde eu estava hospedado naqueles dias) com Mr. James. No entanto, no segundo dia ele disse ao irmão: – Não estou me sentindo muito bem, James. Não é nada de maior, mas acho que estou com um pouco de gota. Vou para casa e fico sob os cuidados da minha velha governanta, que conhece as minhas manias. Se eu melhorar, volto para ver você antes de sua viagem. Se eu não me sentir capaz de retomar esta visita interrompida, então você vai e me faz uma visita antes de viajar. Mr. James, é claro, disse que iria, e apertaram-se as mãos – ambas as mãos cada um, como sempre faziam –, e Mr. John mandou buscar sua charrete fora de moda e se foi, chacoalhando, para casa. Foi na segunda noite depois disso – ou seja, a quarta noite daquela semana – que fui arrancado de um sono profundo por Mr. James entrando no meu quarto em seu camisolão de flanela, com uma vela acesa. Ele se sentou na beira da minha cama e, me olhando fixamente, disse: – Wilhelm, tenho razões para acreditar que estou sendo acometido de uma doença estranha. Então percebi que havia uma expressão fora do comum em seu rosto. – Wilhelm – disse ele –, não tenho medo nem vergonha de lhe contar o que eu teria medo ou vergonha de contar a qualquer outra pessoa. Você vem de um país dotado de bom-senso, onde coisas misteriosas são investigadas e não se dá por encerrado o assunto sem que tenham sido pesadas e medidas... ou tenham sido julgadas imponderáveis e imensuráveis... e de uma forma ou de outra tenham sido completamente resolvidas para todo o sempre... mesmo que as coisas misteriosas tenham acontecido muitos e muitos anos antes. Eu acabo de ver o fantasma do meu irmão. Confesso (disse o courier alemão) que o sangue me correu mais rápido nas veias, ao escutá-lo. – Eu acabo de ver – Mr. James repetiu, olhando-me bem nos olhos para que eu visse o quão calmo e composto ele estava – o fantasma de meu irmão John. Eu estava sentado na cama, sem conseguir dormir, quando a aparição entrou no meu quarto, num camisolão branco e, me olhando muito séria, passou para o outro lado do quarto, espiou uns papéis na minha escrivaninha, voltou-se e, ainda me olhando muito séria ao passar pela minha cama, saiu pela porta. Veja bem: eu não estou nem um pouco maluco e não estou disposto a admitir que esse fantasma tenha alguma existência externa fora de mim mesmo. Eu acho que é um aviso de que estou doente, e acho que seria bom eu me submeter a uma sangria. Levantei imediatamente da cama (disse o courier alemão) e comecei a trocar de roupa, suplicando-lhe que não se alarmasse, dizendo-lhe que eu mesmo iria à procura do médico. Recém tinha me aprontado quando ouvimos batidas fortes na porta da rua e o toque da sineta. Sendo o meu um quarto de sótão nos fundos da casa, e o de Mr. James um quarto de frente no segundo andar, descemos para o quarto dele e levantamos a vidraça para ver do que se tratava. – É Mr. James? – indagou o homem embaixo, indo para o outro lado da rua para poder olhar para cima. – Sou eu – disse Mr. James –, e você é Robert, o valete de meu irmão. – Sim, senhor. Lamento dizer, senhor, que Mr. John está doente. Está muito mal, senhor. Teme-se que esteja à morte. Ele deseja vê-lo, senhor. Tenho uma caleça aqui comigo. Eu lhe peço que vá ver o seu irmão. Eu lhe peço, senhor, não se demore. Mr. James e eu nos olhamos. – Wilhelm – disse ele –, isso é estranho. Quero que você venha comigo! Ajudei-o a se vestir, parte em casa e parte na caleça; e a distância entre Polland Street e a Floresta foi sumindo, veloz, sob os cascos ferrados dos cavalos. Agora, vejam só! (disse o courier alemão). Fui com Mr. James ao quarto de seu irmão e vi e ouvi pessoalmente o que agora eu vou contar. O irmão dele estava deitado na cama, do outro lado de um quarto de dormir muito comprido. Sua velha governanta estava presente, e outras pessoas também: acho que mais três estavam ali, se não quatro, fazendolhe companhia desde o início da tarde. Ele estava de branco, como a aparição – inevitavelmente, pois estava usando o seu camisolão. Ele parecia ser a aparição – necessariamente, pois olhou muito sério para o irmão quando o viu entrar no quarto. Mas, quando o irmão se aproximou da cama, ele se ergueu lentamente e, olhando-o firme nos olhos, proferiu estas palavras:
– James, você já me viu hoje... e você sabe disso! E então faleceu. Eu esperava, quando o courier alemão parou de falar, que alguém dissesse alguma coisa sobre essa estranha história. O silêncio não foi quebrado. Olhei em volta, e os cinco couriers haviam partido: tão silenciosamente que se poderia dizer que a montanha mal-assombrada os incorporava em suas neves eternas. Naquele instante, eu não tinha vontade alguma de ficar sentado sozinho naquele cenário horrível, com o ar gélido precipitando-se solenemente sobre mim – a bem da verdade, eu não tinha vontade alguma de ficar sentado sozinho onde quer que fosse. Então, voltei à sala de visitas do convento e, encontrando o cavalheiro americano ainda disposto a relatar a biografia do honorável Ananias Dodger, escutei tudinho, do começo ao fim.
5 Courier: empregado contratado para serviços especiais como mensageiro, prestador de serviços postais e acompanhante em viagens. (N.T.) 6 Termo usado na época para indicar estados de introversão excessiva ou depressão. (N.T.)
Um, dois, três, quatro, cinco. Eles eram cinco. Cinco couriers,5 sentados num banco do lado de fora do convento erigido no topo do monte Grande São Bernardo, na Suíça, contemplando os picos remotos matizados pelo sol que desaparecia, como se uma grande quantidade de vinho tinto tivesse se derramado no topo da montanha e ainda não tivera tempo suficiente para afundar na neve. Essa imagem não é minha. Foi feita, naquele momento, pelo courier mais robusto, que era um alemão. Nenhum dos outros havia se dado conta do fato, e tampouco de mim, sentado em outro banco, no lado oposto da porta do convento, fumando como eles o meu charuto e, também como eles, olhando a neve avermelhada e uma cabana solitária não muito distante dali, onde os corpos de viajantes surpreendidos pela noite lentamente definham sem se decompor, tal o frio da região. O vinho foi se diluindo no topo da montanha enquanto olhávamos; ela se tornou branca; o céu, de um azul profundo; o vento soprou; e o ar tornou-se de um frio cortante. Os cinco couriers abotoaram seus casacos rústicos. Não havendo ninguém mais digno de ser imitado nesse tipo de providência do que um courier, abotoei o meu. A montanha ao pôr do sol tinha interrompido a conversa dos cinco couriers. É uma vista sublime, própria para interromper uma conversa. A montanha estando agora sem o pôr do sol, eles retomaram o assunto. Não que eu tivesse ouvido algo do seu diálogo precedente, pois um pouco antes, na verdade, eu ainda estava com o cavalheiro americano, no salão do convento destinado a viajantes. Sentado em frente à lareira, ele tinha tentado me fazer entender o curso dos acontecimentos que levaram o honorável Ananias Dodger a acumular uma das maiores fortunas em dólares jamais amealhadas em um só país. – Meu Deus! – disse o mensageiro suíço, falando em francês, o que eu não apoio como sendo uma boa desculpa (como alguns autores o fazem) para uma palavra de baixo calão, e que basta que eu escreva nessa língua para que pareça inocente. – Se você está falando de fantasmas... – Mas eu não estou falando de fantasmas – disse o alemão. – Do quê, então? – perguntou o suíço. – Se eu soubesse do quê, naquela época – disse o alemão –, eu provavelmente deveria saber muito mais. Era uma boa resposta, pensei, e despertou minha curiosidade. Então mudei de lugar no banco, de modo a ficar mais próximo deles, e, encostando-me na parede do convento, pude ouvir perfeitamente, sem que parecesse estar prestando atenção. – Raios que me partam!– disse o alemão, entusiasmando-se. – Quando alguém está pensando em visitar você, sem ser esperado, e, sem que se dê conta, envia algum mensageiro invisível para colocar a lembrança dele em sua cabeça o dia inteiro, que nome você dá a isso? Quando você anda numa rua apinhada de gente, em Frankfurt, Milão, Londres ou Paris, e acha que um desconhecido que vai passando é parecido com seu amigo Heinrich, e então outro desconhecido que vai passando parece o seu amigo Heinrich e daí você começa a ter um estranho pressentimento de que você logo vai se encontrar com seu amigo Heinrich, o que acontece, apesar de achar que ele estava em Trieste... que nome você dá a isso? – O que também não é fora do comum – murmuraram o suíço e os outros três. – Fora do comum! – disse o alemão. – É tão comum como cerejas na Floresta Negra. Tão comum como macarrão em Nápoles. E Nápoles me faz lembrar! Quando a velha marquesa Senzanima solta seus guinchos numa reunião de jogo de cartas no Hotel Chiaja, de Nápoles, e isso eu vi e ouvi, pois aconteceu no ramo bávaro da minha família, e eu estava supervisionando os empregados naquela noite. Eu lhes digo: quando a velha marquesa se levanta da mesa de jogo, lívida sob a maquiagem, e grita: “Minha irmã que mora na Espanha morreu! Senti o toque gelado dela nas minhas costas!”, e quando aquela irmã morre naquele exato momento, que nome você dá a isso? – Ou quando o sangue de San Gennaro se liquefaz a pedido do clero, como todo mundo sabe que acontece regularmente uma vez por ano, na minha cidade natal – disse o courier napolitano depois de uma pausa, com um olhar piadista –, que nome você dá a isso? – Isso! – gritou o alemão. – Bem, acho que eu tenho um nome para isso. – Milagre? – disse o napolitano, com o mesmo ar de zombaria. O alemão apenas fumou e riu; e todos eles fumaram e riram. – Que nada! – exclamou o alemão logo em seguida. – Estou falando de coisas que realmente acontecem. Quando eu quero consultar um vidente, pago um profissional e faço valer o meu dinheiro. Coisas estranhas acontecem sem fantasmas. Fantasmas! Giovanni Baptista, conte a sua história da noiva inglesa. Não tem fantasmas nela, mas alguma coisa igualmente estranha. Será que alguém vai poder me dizer o que é? Como houve um silêncio entre eles, olhei o grupo. Aquele que me pareceu ser Baptista estava acendendo um novo charuto. Em seguida, iniciou o seu relato. Era um genovês, segundo os meus critérios. – A história da noiva inglesa? – disse ele. – Basta! Não se deve chamar de insignificante uma história dessas. Bem, tanto faz. Mas é verdade. Vejam bem, cavalheiros, é verdade. Nem tudo o que reluz é ouro, mas o que vou contar é verdade. E repetiu isso mais de uma vez. Há dez anos, levei minhas credenciais ao Long’s Hotel, na Bond Street, em Londres, para um cavalheiro inglês que se preparava para viajar – por um ano, ou talvez dois. Ele as aprovou, bem como a mim. Ficou satisfeito com a entrevista, e minhas cartas de recomendação eram favoráveis. Ele me empregou por seis meses, e as condições oferecidas eram generosas. Ele era jovem, bonito, muito feliz. Estava enamorado de uma jovem e bela lady inglesa, com uma fortuna razoável, e iam se casar. Em resumo, era a viagem de lua de mel que íamos empreender. Para uma estadia de três meses em clima quente (era o início do verão), ele tinha alugado uma velha mansão na Riviera, não muito distante da cidade, Gênova, no caminho para Nice. Se eu conhecia o lugar? Sim, eu lhe havia dito que conhecia bem. Era um velho palácio, com grandes jardins. Era um pouco vazio, um pouco escuro e tristonho, pois era cercado de árvores, mas era espaçoso, antigo, suntuoso, e à beira-mar. Ele disse que correspondia à descrição que lhe fora dada e ficava contente por eu conhecer o lugar. Quanto a ter pouco mobiliário, isso era comum nesses lugares. Quanto a ser um pouco triste, ele tinha alugado a casa principalmente pelos jardins, e ele e a esposa passariam o verão à sombra das árvores. – Então está tudo bem, Baptista? – perguntou. – Indubitavelmente, signore, muito bem. Tínhamos uma carruagem de viagem para nossa jornada, recém montada para nós e completa no que se necessita. O casamento foi celebrado. Eles estavam muito felizes. Eu estava feliz, vendo que tudo estava certo, estando eu tão bem colocado, indo para minha própria cidade na parte traseira da carruagem, ensinando meu idioma à empregada, la bella Carolina, cujo coração alegrava-se com risadas; Carolina, que era jovem e corada. O tempo voou. Mas eu observei – escutem-me, eu suplico! (e aqui o mensageiro baixou a voz) –, observei que minha patroa às vezes andava taciturna, de um jeito esquisito; um jeito amedrontado; um jeito infeliz; como se estivesse sob uma nuvem de sobressaltos indefinidos. Acho que comecei a notar isso quando estava subindo as colinas ao lado da carruagem, e o meu patrão tinha ido na frente. Seja como for, lembro que me impressionou, em um fim de tarde no sul da França, quando ela me pediu para chamar o patrão de volta e, ao retornar, caminhando um bom trecho, ele a encorajou com palavras e mostrou-se afetuoso, tomando a mão dela na sua pela janela aberta. Às vezes ele ria jovialmente, como se quisesse desviar a atenção dela de alguma coisa. Aqui e ali ela ria, e tudo voltou a ficar bem. Foi curioso. Interroguei la bella Carolina, a mimosinha. – A patroa não anda bem? – Não. – Amuada? – Não. – Com medo de estradas ruins e salteadores? – Não. E o mais misterioso era que a mimosinha não me encarava ao responder, mas dirigia o olhar para a paisagem. Até que um dia ela me contou o segredo. – Se você quer saber – disse Carolina –, acho, do que ouvi por aí, que a patroa vem tendo uma assombração. – Como, assombração? – Um sonho. – Que sonho? – O sonho dum rosto. Nas três noites antes do casamento, ela viu um rosto num sonho, sempre o mesmo, e um rosto só. – Um rosto horrível? – Não. O rosto de um homem moreno, de aparência marcante, de preto, com cabelos pretos e bigode grisalho. Um homem bonito, a não ser por seu jeito taciturno e furtivo. Não era o rosto de ninguém conhecido, nem parecido com ninguém. Não fazia nada, no sonho, só ficava olhando fixamente para ela, destacando-se na escuridão. – O sonho sempre volta? – Nunca. A lembrança é que é o tormento dela. – E por que é um tormento? Carolina sacudiu a cabeça. – Essa é a pergunta do patrão – disse la bella. – Ela não sabe. Ela fica pensando, ela mesma. Mas eu ouvi quando ela disse pra ele, justo ontem à noite, que, se ela encontrasse um retrato daquele rosto na nossa casa italiana (e ela acha que vai encontrar), ela não sabia dizer se iria aguentar. Palavra de honra, depois disso, fiquei com medo (disse o mensageiro genovês) da nossa ida para o velho palazzo, se porventura um tal quadro, por um mau fado, pudesse estar ali. Eu sabia que havia muitos quadros na casa e, à medida que nos aproximávamos do lugar, desejei que toda a pinacoteca estivesse na cratera do Vesúvio. E, para piorar as coisas, chegamos à noitinha naquela parte da Riviera, junto com uma tempestade tremenda. Trovejava, e os trovões da minha cidade e arredores, ribombando pelos montes, fazem muito barulho. Os lagartos saíam e entravam por entre as fendas do muro de pedra do jardim, como se estivessem com medo; os sapos espumavam e coaxavam no volume máximo; a brisa do mar gemia, e as árvores molhadas pingavam; e os relâmpagos – pelo corpo sagrado de meu São Lourenço, como relampejava! Todos sabíamos o que é um palácio antigo em Gênova, ou nos arredores – como o tempo e a maresia vão manchando tudo – como os afrescos descascam e passam a ser grandes flocos de reboco nas paredes externas – como as janelas inferiores ficam escurecidas pelo enferrujado das barras de ferro – como o pátio é tomado pela grama crescida – como o prédio fica dilapidado por fora – como toda a edificação parece fadada a ruir. Nosso palazzo era um perfeito exemplo disso. Tinha permanecido fechado durante meses. Meses? – anos! – tinha cheiro de terra, como uma tumba. O odor das laranjeiras no amplo terraço dos fundos e dos limões amadurecendo por cima dos muros, e de alguns arbustos que cresciam ao redor de um chafariz estragado, tinham entrado na casa de algum modo e nunca mais haviam saído. Sentia-se, nos interiores sempre fechados, um cheiro de coisas velhas e guardadas. Esse cheiro incrustara-se nos armários e gavetas. Nas saletas de comunicação entre os grandes cômodos da casa, ele sufocava. Se você virasse um quadro – voltando ao assunto dos quadros –, ele ainda estava ali, grudado à parede atrás da moldura, como uma espécie de morcego. Os postigos de treliça estavam trancados em toda a casa, que estava sob os cuidados de duas velhas grisalhas e feias; uma delas, com um fuso, ficava fiando e resmungando bem na porta da frente, e teria dado passagem tanto para o ar como para o diabo. O meu patrão e a patroa e la bella Carolina e eu andamos por todo o palazzo. Fui andando à frente, apesar de ter me citado por último, e abrindo as janelas e os postigos, sacudindo os pingos de chuva e restos de argamassa, aqui e ali um mosquito sonolento ou uma monstruosa, gorda, colorida aranha genovesa. Assim que eu fazia entrar a luz do crepúsculo num aposento, o patrão e a patroa e la bella Carolina entravam também. Então olhávamos todos os quadros ao nosso redor, e eu seguia adiante para o próximo aposento. A patroa tinha um grande medo de se deparar com a cópia daquele rosto – nós todos tínhamos medo; mas nada apareceu. A Madona e o Menino, São Francisco, São Sebastião, Vênus, Santa Catarina, Anjos, Salteadores, Frades, Templos ao pôr do sol, Batalhas, Cavalos Brancos, Florestas, Apóstolos, Doges, todos os meus velhos conhecidos repetidamente copiados? – sim. Belo homem moreno de preto, taciturno e furtivo, de cabelos pretos e bigode grisalho, olhar fixado em minha patroa, destacando-se na escuridão? – não. Examinamos, enfim, todos os aposentos e todos os quadros e fomos para os jardins. Estavam razoavelmente bem conservados, arrendados por um jardineiro, e eram grandes, com boa sombra. Num recanto havia um teatro rústico, a céu aberto; o palco, uma rampa verde; os bastidores, três entradas laterais, com tabiques de folhas de odor adocicado. A patroa movia seus olhos brilhantes, até mesmo nesse lugar, como se fosse ver o rosto surgir em cena; mas tudo estava em ordem. – Agora, Clara – disse o patrão, sussurrando –, você já viu que não tem nada. E você está feliz. A patroa ficou encorajada. Logo se acostumou com aquele palazzo soturno e passou a cantar, tocar harpa e copiar as velhas pinturas; passeava com o patrão sob as árvores verdes e as parreiras. Ela era linda. Ele estava feliz. Ele até ria e me dizia, montando seu cavalo para a cavalgada antes do calor do dia: – Tudo vai bem, Baptista! – Sim, signore, graças a Deus, muito bem. Éramos só nós ali. Levei la bella ao Duomo e à Annunciata, ao Café, à Ópera, ao Festival do vilarejo, ao Parque Público, ao Teatro Vespertino, aos Marionetti. A mimosinha encantou-se com tudo o que viu. Aprendeu italiano – céus! – miraculosamente! E a patroa tinha se esquecido daquele sonho?, perguntei a Carolina algumas vezes. – Praticamente – disse la bella –, quase esqueceu. Estava sumindo. Um dia, o patrão recebeu uma carta e me chamou.
– Baptista! – Signore! – Um cavalheiro que me foi apresentado jantará aqui hoje. Ele se chama Signore Dellombra. Faça com que seja um jantar principesco. Era um sobrenome esquisito. Eu nunca tinha ouvido. Mas ultimamente muitos nobres e cavalheiros, perseguidos na Áustria por suspeitas políticas, tinham alterado seus nomes. Este poderia ser um. Altro! Dellombra era um nome tão bom para mim como qualquer outro. Quando o Signore Dellombra chegou para o jantar (disse o courier genovês em voz baixa, como já havia feito antes), eu o conduzi ao salão de visitas, a grande sala do velho palazzo. O patrão recebeu-o cordialmente e apresentou-o a sua esposa. Ao erguer-se para cumprimentá-lo, o semblante dela mudou, ela deu um grito e caiu desmaiada no piso de mármore. Então me virei para o Signore Dellombra e vi que ele vestia negro, tinha um ar taciturno e furtivo e era um belo homem, moreno, de cabelos pretos e bigode grisalho. O patrão ergueu a esposa nos braços e carregou-a para o quarto, para onde mandei la bella Carolina de imediato. La bella me disse, mais tarde, que a patroa quase morreu de susto, e que revolveu em sua mente o sonho durante toda a noite. O patrão estava agastado e ansioso, quase raivoso, mas, ainda assim, muito solícito. O Signore Dellombra era um homem cortês e referiuse com respeito e simpatia ao fato de a madame estar tão doente. O vento que chegava da África vinha soprando havia alguns dias (foi o que lhe contaram em seu hotel da Cruz de Malta), e ele sabia que aquilo costumava ser prejudicial. Ele desejava o pronto restabelecimento da bela senhora. Pediu licença para se retirar, para renovar sua visita quando tivesse a felicidade de ser informado de sua melhora. O patrão não permitiu que se retirasse, e jantaram os dois a sós. Ele se retirou cedo. No dia seguinte, apresentou-se no portão, a cavalo, para perguntar sobre a patroa. E assim o fez duas ou três vezes naquela semana. O que eu observei, e la bella Carolina me contou, me deixou claro que agora o patrão havia colocado todo o seu empenho em curar a patroa de seu terror imaginário. Ele era todo bondade, mas era também firme e guiado pelo bom-senso. Ponderava com ela que encorajar tais fantasias seria um convite à melancolia,6 quiçá à loucura. Que dependia dela permanecer sendo ela mesma. Que uma vez que ela resistisse àquela estranha fraqueza, recebendo elegantemente o Signore Dellombra, como uma lady inglesa recebe qualquer convidado, aquilo estaria sob controle para sempre. Para resumir a história, o Signore retornou, a patroa o recebeu sem maior aflição (apesar de algum constrangimento e certa apreensão), e a noite decorreu serena. O patrão estava tão deliciado com a mudança, e tão ansioso por confirmá-la, que o Signore Dellombra tornou-se um convidado constante. Ele era um conhecedor de pinturas, livros e música, e sua companhia, em qualquer palazzo lúgubre, teria sido muito bem-vinda.
Eu notava, com frequência, que a patroa não estava totalmente recuperada. Ela baixava os olhos e a cabeça diante do Signore Dellombra, ou mirava-o com um olhar de terror e fascinação, como se sua presença tivesse alguma influência maléfica, ou algum poder sobre ela. Após observá-la, eu percebia que ele, andando nos jardins umbrosos, ou na grande sala parcialmente iluminada, olhava, por assim dizer, “fixamente para ela, destacando-se na escuridão”. Mas, na verdade, eu não tinha esquecido as palavras da bella Carolina descrevendo o rosto do sonho. Depois da segunda visita, ouvi o patrão dizer: –Veja, minha querida Clara, acabou! Dellombra vem e vai, e a sua apreensão, minha querida, fez-se em pedaços, como vidro que se estilhaça. – Ele... ele vai aparecer de novo? – perguntou a patroa. – De novo? Ora, com certeza, muitas e muitas vezes! Você está com frio? – (ela tivera um calafrio). – Não, querido. Mas ele me apavora. Você tem certeza de que ele vai aparecer de novo? – Mais do que nunca, Clara! – respondeu o patrão, alegremente. A esperança dele em sua total recuperação, agora, parecia-lhe possível e crescia a cada dia. Ela era linda. Ele estava feliz. – Tudo vai bem, Baptista? – ele repetia para mim. – Sim, Signore, tudo bem, graças a Deus. Nós fomos todos (disse o courier genovês, forçando-se a falar um pouco mais alto), fomos todos a Roma para o Carnaval. Eu tinha passado um dia fora, com um siciliano meu amigo, ele também courier, que estava ali com uma família inglesa. Ao retornar à noite para o meu hotel, encontrei a pequena Carolina, que nunca se animava a sair sozinha de casa, andando para lá e para cá, desorientada, pelo corso. – Carolina, o que está havendo? – Ah, Baptista, ah, pelo amor de Deus! Onde está a minha patroa? – A patroa, Carolina? – Desapareceu, desde a manhã, e ela me disse que, quando o patrão saiu para seu passeio matinal diário, não era para chamá-la, porque ela estava cansada porque não tinha dormido bem à noite (com dores) e que ia ficar na cama o dia todo e depois então levantaria renovada. Ela desapareceu! Ela desapareceu! O patrão voltou, pôs a porta abaixo, e ela tinha desaparecido! Minha bela, minha bondosa, minha inocente patroa! A mimosinha chorava e se exclamava e se agitava, tanto que eu não teria como segurá-la se ela não tivesse desfalecido em meus braços, de repente, como se tivesse levado um tiro. O patrão apareceu – nos modos, no rosto e na voz, não mais o patrão que eu conhecia. Levou-me com ele (deixei a mimosa em sua cama, no hotel, com a camareira) numa carruagem, de maneira furiosa, através da escuridão, cortando a Campagna deserta. Quando o dia raiou e paramos num miserável posto para troca de cavalos, todos tinham sido alugados doze horas antes, enviados para destinos diversos. Agora, prestem atenção: pelo Signore Dellombra, que tinha passado ali numa carruagem, com uma lady inglesa, amedrontada, encolhida num canto. Nunca soube (disse o courier genovês, inspirando fundo) que ela tivesse jamais sido procurada além desse ponto. Tudo o que sei é que ela desapareceu num olvido abominável, tendo ao seu lado o rosto tão temido que vira num sonho. – E que nome você dá a isso? – perguntou o courier alemão, triunfante. – Fantasmas! Não há fantasmas lá! Como vão chamar a isto que estou prestes a lhes contar? Fantasmas! Não há fantasmas aqui! Eu, uma vez, me empreguei (prosseguiu o courier alemão) a serviço de um cavalheiro inglês, idoso e solteirão, para acompanhá-lo em viagem ao meu país, minha terra natal. Ele era um comerciante que negociava com meu país e conhecia o idioma, mas que não estivera ali desde criança – creio que fazia bem uns sessenta anos. Seu nome era James e ele tinha um irmão gêmeo, John, também solteirão. Uma grande afeição os unia. Trabalhavam juntos, na Empresa Goodman’s Fields, mas não moravam juntos. Mr. James morava na Polland Street, quase esquina com Oxford Street, em Londres; Mr. John residia próximo à Floresta Epping. Mr. James e eu devíamos partir para a Alemanha dali a uma semana. O dia exato dependeria dos negócios. Mr. John veio passar aquela semana na Polland Street (onde eu estava hospedado naqueles dias) com Mr. James. No entanto, no segundo dia ele disse ao irmão: – Não estou me sentindo muito bem, James. Não é nada de maior, mas acho que estou com um pouco de gota. Vou para casa e fico sob os cuidados da minha velha governanta, que conhece as minhas manias. Se eu melhorar, volto para ver você antes de sua viagem. Se eu não me sentir capaz de retomar esta visita interrompida, então você vai e me faz uma visita antes de viajar. Mr. James, é claro, disse que iria, e apertaram-se as mãos – ambas as mãos cada um, como sempre faziam –, e Mr. John mandou buscar sua charrete fora de moda e se foi, chacoalhando, para casa. Foi na segunda noite depois disso – ou seja, a quarta noite daquela semana – que fui arrancado de um sono profundo por Mr. James entrando no meu quarto em seu camisolão de flanela, com uma vela acesa. Ele se sentou na beira da minha cama e, me olhando fixamente, disse: – Wilhelm, tenho razões para acreditar que estou sendo acometido de uma doença estranha. Então percebi que havia uma expressão fora do comum em seu rosto. – Wilhelm – disse ele –, não tenho medo nem vergonha de lhe contar o que eu teria medo ou vergonha de contar a qualquer outra pessoa. Você vem de um país dotado de bom-senso, onde coisas misteriosas são investigadas e não se dá por encerrado o assunto sem que tenham sido pesadas e medidas... ou tenham sido julgadas imponderáveis e imensuráveis... e de uma forma ou de outra tenham sido completamente resolvidas para todo o sempre... mesmo que as coisas misteriosas tenham acontecido muitos e muitos anos antes. Eu acabo de ver o fantasma do meu irmão. Confesso (disse o courier alemão) que o sangue me correu mais rápido nas veias, ao escutá-lo. – Eu acabo de ver – Mr. James repetiu, olhando-me bem nos olhos para que eu visse o quão calmo e composto ele estava – o fantasma de meu irmão John. Eu estava sentado na cama, sem conseguir dormir, quando a aparição entrou no meu quarto, num camisolão branco e, me olhando muito séria, passou para o outro lado do quarto, espiou uns papéis na minha escrivaninha, voltou-se e, ainda me olhando muito séria ao passar pela minha cama, saiu pela porta. Veja bem: eu não estou nem um pouco maluco e não estou disposto a admitir que esse fantasma tenha alguma existência externa fora de mim mesmo. Eu acho que é um aviso de que estou doente, e acho que seria bom eu me submeter a uma sangria. Levantei imediatamente da cama (disse o courier alemão) e comecei a trocar de roupa, suplicando-lhe que não se alarmasse, dizendo-lhe que eu mesmo iria à procura do médico. Recém tinha me aprontado quando ouvimos batidas fortes na porta da rua e o toque da sineta. Sendo o meu um quarto de sótão nos fundos da casa, e o de Mr. James um quarto de frente no segundo andar, descemos para o quarto dele e levantamos a vidraça para ver do que se tratava. – É Mr. James? – indagou o homem embaixo, indo para o outro lado da rua para poder olhar para cima. – Sou eu – disse Mr. James –, e você é Robert, o valete de meu irmão. – Sim, senhor. Lamento dizer, senhor, que Mr. John está doente. Está muito mal, senhor. Teme-se que esteja à morte. Ele deseja vê-lo, senhor. Tenho uma caleça aqui comigo. Eu lhe peço que vá ver o seu irmão. Eu lhe peço, senhor, não se demore. Mr. James e eu nos olhamos. – Wilhelm – disse ele –, isso é estranho. Quero que você venha comigo! Ajudei-o a se vestir, parte em casa e parte na caleça; e a distância entre Polland Street e a Floresta foi sumindo, veloz, sob os cascos ferrados dos cavalos. Agora, vejam só! (disse o courier alemão). Fui com Mr. James ao quarto de seu irmão e vi e ouvi pessoalmente o que agora eu vou contar. O irmão dele estava deitado na cama, do outro lado de um quarto de dormir muito comprido. Sua velha governanta estava presente, e outras pessoas também: acho que mais três estavam ali, se não quatro, fazendolhe companhia desde o início da tarde. Ele estava de branco, como a aparição – inevitavelmente, pois estava usando o seu camisolão. Ele parecia ser a aparição – necessariamente, pois olhou muito sério para o irmão quando o viu entrar no quarto. Mas, quando o irmão se aproximou da cama, ele se ergueu lentamente e, olhando-o firme nos olhos, proferiu estas palavras:
– James, você já me viu hoje... e você sabe disso! E então faleceu. Eu esperava, quando o courier alemão parou de falar, que alguém dissesse alguma coisa sobre essa estranha história. O silêncio não foi quebrado. Olhei em volta, e os cinco couriers haviam partido: tão silenciosamente que se poderia dizer que a montanha mal-assombrada os incorporava em suas neves eternas. Naquele instante, eu não tinha vontade alguma de ficar sentado sozinho naquele cenário horrível, com o ar gélido precipitando-se solenemente sobre mim – a bem da verdade, eu não tinha vontade alguma de ficar sentado sozinho onde quer que fosse. Então, voltei à sala de visitas do convento e, encontrando o cavalheiro americano ainda disposto a relatar a biografia do honorável Ananias Dodger, escutei tudinho, do começo ao fim.
5 Courier: empregado contratado para serviços especiais como mensageiro, prestador de serviços postais e acompanhante em viagens. (N.T.) 6 Termo usado na época para indicar estados de introversão excessiva ou depressão. (N.T.)
O JULGAMENTO POR ASSASSINATO
Sempre percebi uma persistente carência de coragem, mesmo entre pessoas de cultura e inteligência superiores, para dar a conhecer suas próprias experiências psicológicas quando estas têm características estranhas. Quase todas as pessoas temem que aquilo que pudessem narrar nesse âmbito não encontraria paralelo ou eco na experiência do ouvinte e poderia levar ao descrédito ou ser objeto de caçoada. Um viajante confiável, que tivesse visto alguma extraordinária criatura parecida com uma serpente marinha, não teria receio de mencioná-la, mas esse mesmo viajante, se tivesse sido tomado por algum pressentimento invulgar, um impulso, um devaneio, uma (assim chamada) visão, sonho ou outra impressão mental marcante, teria hesitado de forma considerável antes de revelá-la. A essa reticência atribuo, em grande parte, a obscuridade que envolve tais assuntos. De hábito, não comunicamos nossas experiências com essas coisas subjetivas como o fazemos com nossas experiências de criação objetiva. A consequência é que o estoque geral de experiências desse tipo parece excepcional, e de fato o é, no sentido de serem miseravelmente imperfeitas. Neste meu relato não há a mais leve intenção de montar, opor ou apoiar uma teoria, seja ela qual for. Conheço a história do livreiro de Berlim. Estudei o caso da esposa de um falecido astrônomo real, segundo a narrativa de Sir David Brewster, e acompanhei os mínimos detalhes de um ainda mais notável caso de ilusão espectral acontecido no meu círculo de amigos íntimos. É necessário esclarecer que, quanto ao último caso, a atingida (uma senhora) não tinha nenhum parentesco, mesmo que distante, comigo. Uma suposição errônea nessa direção poderia sugerir uma explicação de parte do meu próprio caso – mas apenas de parte –, o que seria totalmente infundado. O meu caso não se pode vincular a nenhuma particularidade minha, herdada, que eu tivesse desenvolvido; também nunca antes tive uma experiência como essa, tampouco remotamente similar a essa; e mesmo depois, nunca mais tive uma experiência como essa e nem remotamente similar a ela. Não importa se foi há muito tempo ou se foi agora há pouco, um certo assassinato cometido na Inglaterra atraiu grande atenção. Ouve-se falar mais do que o suficiente a respeito de assassinos à medida que cada um deles vai subindo em sua carreira de atrocidades, e eu gostaria de sepultar a lembrança desse bruto em particular, se pudesse, da mesma forma que o seu corpo foi enterrado na prisão de Newgate. De propósito, abstenho-me de fornecer qualquer pista que possa levar à identidade do criminoso. Quando o assassinato foi descoberto, nenhuma suspeita recaiu – aliás, eu deveria dizer, pois não devo ser muito preciso nos fatos, que publicamente nada sugeria que qualquer suspeita viesse a recair – sobre o homem que posteriormente foi a julgamento. Como na época nenhuma referência a ele foi feita nos jornais, é obviamente impossível que alguma descrição dele tivesse aparecido nos mesmos. É absolutamente essencial que este fato seja lembrado. Folheando, no café da manhã, meu jornal matutino, contendo o relato da primeira descoberta, achei aquilo muito interessante e li com atenção redobrada. Li duas vezes, talvez três. O fato ocorrera num quarto de dormir e, quando larguei o jornal, dei-me conta de que tinha se passado em mim um lampejo... uma chispada... uma luz... – eu não sei que nome dar a isso – nenhum termo que conheço consegue descrever isso – e me pareceu que eu enxerguei aquele quarto atravessando o meu, como uma pintura impossível, cuja tela fosse a correnteza de um rio. Embora quase instantâneo ao passar, foi perfeitamente nítido, tão nítido que observei distintamente, e com uma sensação de alívio, a ausência do corpo morto na cama. Não foi em nenhum lugar romântico que tive essa curiosa sensação, mas em um aposento em Picadilly, bem perto da esquina com a Saint James Street. Foi uma sensação inusitada para mim. Estava em minha poltrona naquele momento, e a sensação foi acompanhada de um estranho estremecimento, que chegou a mover a cadeira. (Mas deve-se mencionar que era uma cadeira com rodinhas.) Fui até uma das janelas (há duas no quarto, e o quarto fica no segundo andar) para descansar meus olhos vendo o movimento de Picadilly. Era uma manhã ensolarada de outono, e a rua estava cintilante e animada. O vento soprava forte. Ao olhar para fora, vi que carregava as folhas caídas das árvores do parque, e uma rajada mais forte fez com que rodopiassem, formando uma coluna de folhas em espiral. Ao se desfazer a coluna e se dispersarem as folhas, vi dois homens na calçada oposta, indo de Oeste para Leste. Andavam um atrás do outro. O da frente olhava frequentemente para trás, por cima do ombro. O segundo o seguia, a uma distância de uns trinta passos, a mão direita erguida de modo ameaçador. Em primeiro lugar, a singularidade e a firmeza desse gesto, em plena via pública, atraíram minha atenção; e, também, uma circunstância incrível: ninguém notava. Ambos abriam caminho entre os pedestres com uma suavidade rara para a ação de andar em calçadas; e nenhuma criatura, que eu pudesse ver, lhes dava passagem, esbarrava neles ou sequer os olhava. Ao passarem por minha janela, ambos me encararam. Vi seus rostos com nitidez e percebi que poderia reconhecê-los em qualquer lugar. Não que eu conscientemente percebesse algo marcante em seus rostos, exceto que o homem à frente parecia abatido e o rosto do homem de trás tinha cor de cera usada. Eu sou um solteirão, e meu criado de quarto e sua esposa constituem tudo o que tenho de doméstico. Trabalho na filial de um banco e gostaria que meus deveres como chefe de departamento fossem tão leves quanto popularmente supõe-se que sejam. Eles me retiveram na cidade naquele outono, quando eu mais precisava de uma mudança de ares. Não estava doente, mas não estava bem. Meu leitor deve procurar imaginar tanto quanto possível a vida monótona que levo e que me deprime, além de eu estar “levemente dispéptico”. Meu renomado médico assegurou-me que o meu real estado de saúde naquela época não justificava uma descrição mais séria, e estou me baseando em sua resposta escrita, feita a meu pedido. À medida que as circunstâncias do assassinato eram gradualmente desvendadas e tomavam conta da imaginação do público, eu as mantinha afastadas da minha mente, conservando-me o mais distante possível das notícias, em meio à comoção geral. Mas eu sabia que um indiciamento sob acusação de homicídio premeditado fora pronunciado contra o assassino suspeito, e que ele tinha sido levado à prisão de Newgate para aguardar julgamento. Também soube que mais de uma vez as sessões de seu julgamento tinham sido adiadas na Corte Criminal, com a alegação de que havia pareceres preconceituosos e necessidade de tempo para a preparação da defesa. Talvez eu também soubesse, mas acho que não, quando, ou aproximadamente quando, aconteceriam as sessões que incluíam o julgamento daquele réu. Minha sala de estar, quarto de dormir e quarto de vestir estão todos num mesmo andar. Com este último só há comunicação através do quarto de dormir. A bem da verdade, há uma porta nele que antigamente se comunicava com a escada. Mas uma parte da instalação de minha banheira – e isso já faz uns bons anos – fez com que essa porta ficasse bloqueada. Naquela época, como parte dessa reforma, a porta foi pregada à portalada e totalmente recoberta com lona. Eu estava no meu quarto, tarde da noite, dando algumas instruções ao meu criado antes de ele ir para a cama. Meu rosto estava virado para a única porta de comunicação com o quarto de vestir, e ela estava fechada. O criado estava de costas para a porta. Enquanto eu falava, vi a porta se abrir, um homem olhar para dentro do meu quarto e, grave e misteriosamente, acenar para mim. Esse homem era o de trás, daqueles dois em Picadilly, cujo rosto era da cor de cera usada. A figura, depois de acenar, retrocedeu e fechou a porta. Após um intervalo que não durou mais tempo do que eu precisava para atravessar o quarto, abri a porta do quarto de vestir e olhei para dentro. Eu já estava com uma vela acesa na mão. Não tinha a menor expectativa de ver a figura no quarto de vestir, e realmente não vi nada ali. Consciente de que meu criado estava estupefato, virei-me para ele e disse: – Derrick, você acreditaria que em meu juízo perfeito imaginei ter visto um... – nesse momento, pousei a mão no seu peito, e ele, com um repentino e violento tremor, disse: – Ah, Deus, sim, senhor! Um homem morto acenando! Agora, eu não acredito que John Derrick, meu criado de confiança, dedicado e afeito a mim por mais de vinte anos, tivesse tido a menor impressão de ter visto aquela figura – até eu tocar nele. Sua mudança foi tão incrível quando o toquei que acredito piamente que naquele instante a impressão dele, de alguma maneira oculta, derivou de mim.
Pedi a John Derrick que me trouxesse conhaque, ofereci-lhe um trago e fiquei contente em tomar um eu também. Sobre o que precedera o fenômeno daquela noite, eu não lhe disse uma única palavra. Refletindo a respeito, eu tinha absoluta certeza de nunca ter visto aquele rosto antes, exceto naquela única ocasião em Picadilly. Comparando a expressão dele, de quando acenou da porta, com aquela expressão ao olhar para cima e me encarar, estando eu na minha janela, cheguei à conclusão de que na primeira vez ele tinha procurado fixar a imagem de seu rosto em minha memória – e na segunda, quis se assegurar de que podia ser imediatamente relembrado. Não fiquei muito à vontade naquela noite, embora tivesse uma certeza, difícil de explicar, de que a figura não retornaria. Com a luz do dia caí num sono profundo, do qual fui despertado pela chegada de John Derrick com um papel na mão. Esse papel, parece, tinha sido objeto de uma altercação, ainda na porta, entre o portador e meu criado. Era uma notificação para que eu fizesse parte do júri nas próximas sessões da Corte Criminal Central em Old Bailey. Eu nunca tinha sido notificado para compor um júri, coisa que John Derrick sabia muito bem. Ele achava – agora não estou certo se com ou sem razão – que esse tipo de jurado costumava ser escolhido entre pessoas de menor qualificação do que a minha e, num primeiro momento, recusou-se a aceitar a notificação. O homem que a entregou foi muito frio. Disse que meu comparecimento ou ausência nada significavam para ele, e ali estava a notificação; o risco das consequências era meu, e não dele. Por um dia ou dois fiquei indeciso entre atender ao chamado da Corte ou desconsiderá-lo. Eu não tinha a menor consciência de estar misteriosamente predisposto, influenciado ou levado a fazer uma coisa ou outra. Disso estou tão certo quanto de qualquer outra afirmação que faço aqui. Por fim decidi, para quebrar a monotonia de minha vida, que compareceria. A manhã marcada foi uma manhã feia de novembro. Havia uma cerração densa e parda em Picadilly que foi ficando cada vez mais escura e opressiva nas proximidades do lado leste da monumental Temple Bar, uma das entradas da cidade de Londres. Os corredores e as escadarias do prédio da Corte Criminal Central brilhavam com a iluminação a gás, assim como todo o prédio. Acho que até ser conduzido pelos meirinhos ao recinto da Velha Corte e vê-la lotada, eu não sabia que o assassino seria julgado naquela data. Acho que até o momento em que me conduziram até ali, com dificuldade, em meio à multidão, eu não sabia para qual das duas cortes fora emitida a minha notificação. Mas isso não deve ser tomado como uma asserção, porque não estou seguro de nada quanto a esses dois pontos. Tomei o meu assento no lugar reservado aos jurados à espera de serem chamados e olhei em volta, na medida do possível, através da nuvem de cerração abafada que pesava no ar. Notei que um vapor escuro pendia como uma cortina lúgubre do lado de fora das grandes janelas e notei o som abafado das rodas sobre a palha e o tanino dos curtumes jogados na rua; também, o murmúrio do povo ali reunido, trespassado às vezes por um apito estridente ou uma canção ou uma saudação mais alta que as outras. Logo após, os juízes, em número de dois, entraram e tomaram seus lugares. O rumor na Corte imediatamente enfraqueceu. Foi dada a ordem para colocar o assassino no cancelo dos réus. E ali ele surgiu. E no mesmo instante eu o reconheci como sendo o primeiro dos dois homens que eu tinha visto caminhando em Picadilly. Se meu nome tivesse sido chamado nesse momento, duvido que eu pudesse ter respondido de modo audível. Mas foram chamados cerca de seis ou oito componentes da lista de jurados, e então me senti capaz de dizer: – Presente! Agora, observe. Ao entrar em minha ala, o prisioneiro, que antes estivera examinando tudo atentamente, mas sem nenhum sinal de preocupação, ficou extremamente agitado e fez um sinal para o seu advogado. O desejo do prisioneiro, de me desafiar, era tão evidente que ocasionou uma pausa, durante a qual o advogado, com a mão sobre o balaústre, sussurrou algo para seu cliente e fez que não com a cabeça. Mais adiante eu soube, por esse cavalheiro, que as primeiras palavras aterrorizadas dirigidas a ele pelo prisioneiro foram: “A qualquer custo, recuse aquele jurado!”. Mas, por não dar motivo algum para tal e por admitir nunca ter ouvido meu nome antes de eu ser chamado e me apresentar, nisso ele não foi atendido. Tanto em relação ao que aqui já foi relatado, pela vontade de evitar reviver a lembrança malsã daquele assassino, e também porque um relato detalhado de seu longo julgamento não é indispensável à minha narrativa, vou me restringir aos incidentes dos dez dias e noites durante os quais nós, do júri, fomos mantidos juntos, como ficou registrado em minha curiosa experiência pessoal. É colocando ênfase nesse aspecto, e não no assassino, que procuro despertar o interesse do meu leitor. É para isso, e não para uma página dos Registros de Newgate, que eu peço sua atenção. Fui escolhido porta-voz do júri. Na segunda manhã do julgamento, depois de as provas terem sido apresentadas durante duas horas (ouvi tocar o relógio da igreja), olhando num dado momento para meus colegas jurados, encontrei uma inexplicável dificuldade em contá-los. Contei-os várias vezes, sempre com a mesma dificuldade. Em resumo, contava sempre um a mais. Toquei o colega ao meu lado e sussurrei-lhe: – Faça-me o obséquio de contar quantos somos. Ele pareceu surpreso com o pedido, mas virou-se e contou. – Ora – diz ele, subitamente –, nós somos tre... mas não, não é possível. Não. Nós somos doze. De acordo com a minha contagem naquele dia, estávamos sempre no número certo separadamente, mas no conjunto somávamos sempre um a mais. Não havia nenhuma aparição – nenhuma criatura – que explicasse aquilo, mas eu guardava em meu íntimo um presságio de que essa figura certamente iria aparecer. O júri ficou hospedado na London Tavern. Dormíamos todos em um grande aposento dos meirinhos, em nichos separados, e estávamos constantemente sob o olhar e a cargo dos meirinhos juramentados para cuidar de nossa segurança. Não vejo razão para omitir o nome verdadeiro daquele meirinho. Ele era inteligente, muito bem-educado, obsequioso e (fiquei contente em saber) muito respeitado na cidade. Tinha uma presença agradável, olhos bondosos, invejáveis suíças pretas e uma bela voz, sonora. Seu nome era Mr. Harker. Quando nos recolhíamos às nossas doze camas à noite, a de Mr. Harker ficava atravessada na porta. Na noite do segundo dia, não estando disposto a me deitar, e vendo Mr. Harker sentado em sua cama, fui sentarme a seu lado e lhe ofereci um pitada de rapé. Quando a mão de Mr. Harker tocou a minha, ao pegar a caixinha de rapé, um estranho arrepio sacudiu-o, e ele disse: – Quem está aí? Acompanhando o olhar de Mr. Harker, e olhando ao longo do aposento, vi novamente a figura que esperava – o segundo dos dois homens andando em Picadilly. Eu me pus de pé e avancei alguns passos; então parei e me virei para olhar para Mr. Harker. Ele estava despreocupado, rindo, e disse de um modo jovial: – Pensei por um momento que tínhamos um 13o jurado, sem cama. Mas vejo que é o luar. Nada revelando a Mr. Harker, mas convidando-o a andar até o outro lado do aposento, vigiei o que a figura fazia. Parava por alguns momentos ao lado da cama de cada um dos meus onze colegas jurados, sempre próximo ao travesseiro. Ia sempre pelo lado direito da cama e passava sempre pelos pés da cama seguinte. Pelo movimento da cabeça, parecia olhar pensativo para a pessoa em repouso. Não tomou conhecimento de mim, nem de minha cama, que era a mais próxima da de Mr. Harker. Pareceu sumir por onde o luar se insinuava, através de uma janela muito alta, como se ali houvesse uma escada no ar. No dia seguinte, no café da manhã, parecia que todos os presentes tinham sonhado com o homem assassinado, exceto eu mesmo e Mr. Harker. Eu agora já me considerava convencido de que o segundo homem andando em Picadilly era o homem (por assim dizer) assassinado, como se esse entendimento houvesse penetrado a minha mente através de um testemunho direto. Mas até isto que se segue ocorreu, e de um modo para o qual eu não estava nem um pouco preparado. No quinto dia do julgamento, quando a promotoria estava se aproximando de seu discurso de encerramento, um retrato em miniatura do homem assassinado, desaparecido de seu quarto após a descoberta do crime, e posteriormente encontrado num local escondido onde o assassino tinha sido visto cavando, foi apresentado como prova. Identificada o retrato pela testemunha que estava sendo interrogada, foi levada então à mesa dos juízes e depois também para ser inspecionada pelo júri. No momento em que o meirinho, em sua veste preta, tentava entregá-la a mim, a figura do segundo homem andando em Picadilly impetuosamente surgiu dentre os assistentes, tirou do meirinho a miniatura e entregou-a diretamente a mim, com suas próprias mãos, dizendo, num tom baixo e cavo – antes de eu ver o retrato, que estava num medalhão: “Eu era mais jovem na época, e meu rosto não estava exangue”. A figura também acompanhou a prova quando esta passou de mim para o meu colega ao lado, e assim por diante, até retornar para mim. Nenhum deles, no entanto, detectou isso. À mesa, e geralmente nos momentos em que ficávamos fechados, sob a custódia de Mr. Harker, vínhamos, desde o início, discutindo, naturalmente, os trâmites legais do dia. Naquele quinto dia, tendo a promotoria concluído seu libelo acusatório e estando para nós já delineado esse lado da questão, nossa discussão se tornou mais animada e séria. Entre nós havia um conselheiro paroquial – o idiota mais completo que já vi – que via na mais comum das evidências as mais disparatadas objeções e que estava ladeado por dois paroquianos parasitas e débeis; todos os três listados como jurados de um distrito tão esvaziado pela febre que eles mesmos deveriam estar sendo julgados por quinhentos assassinatos. Quando esses cabeças ocas encrenqueiros estavam no seu máximo, ali pela meia-noite, enquanto alguns de nós já se preparavam para dormir, vi novamente o homem assassinado. Ele ficou parado atrás dos paroquianos, com um jeito sinistro, acenando para mim. Ao me dirigir até eles, interrompendo-lhes a conversa, o morto imediatamente se retirou. Esse foi o início de uma série de aparições, confinadas àquele grande aposento onde nós estávamos confinados. Toda vez que um grupinho de colegas juntava suas cabeças, eu via a cabeça do homem assassinado entre elas. Toda vez que uma comparação nos registros lhe era desfavorável, ele solene e indubitavelmente tratava de me acenar. Deve-se ter em mente que, até aparecer o retrato, no quinto dia do julgamento, eu nunca tinha visto a aparição na Corte Criminal. Três mudanças ocorreram, agora que entrávamos nas alegações finais da Defesa. Duas delas, mencionarei juntas, em primeiro lugar. A figura agora estava sempre na Corte e nunca se dirigia a mim, mas sempre à pessoa que estivesse falando no momento. Por exemplo: a garganta do homem morto tinha sido cortada de um lado a outro, num único talho. Na abertura da exposição da Defesa, foi sugerido que o falecido poderia ter cortado a própria garganta. Nesse exato momento, a figura, com a garganta na horrível condição referida (isto ela havia ocultado antes), ficou ao lado do orador, movendo de um lado para outro sua traqueia, ora com a mão esquerda, ora com a direita, vigorosamente sugerindo ao orador a impossibilidade de que tal ferimento tivesse sido autoinfligido. Outro exemplo: uma testemunha do caráter do acusado, uma mulher, depôs a favor do mesmo como sendo o homem mais amável do mundo. A figura, nesse instante, postou-se diante dela, encarando-a bem de frente, e, braço estendido e dedo em riste, apontou as feições malvadas do prisioneiro. A terceira mudança me impressionou fortemente como o mais marcante de tudo. Eu não teorizo sobre isso; afirmo peremptoriamente e deixo assim. Embora a aparição não fosse percebida por aqueles a quem se dirigia, sua aproximação era invariavelmente seguida de algum estremecimento ou perturbação nesses homens. Parecia-me que a ela era impossível, por leis que não alcanço, revelar-se aos outros e, ainda assim, era como se pudesse – visível, calada e sombriamente – anuviar suas mentes. Quando o principal advogado da defesa sugeriu aquela hipótese de suicídio, e a figura ficou ao lado desse letrado cavalheiro, num gesto pavoroso de serrar a garganta, é inegável que o advogado vacilou em sua fala, perdeu por alguns segundos o fio de seu engenhoso discurso, secou a testa com um lenço e ficou extremamente pálido. Quando a testemunha do caráter do réu foi confrontada pela aparição, os olhos da mulher claramente seguiram a direção em que a aparição apontou o dedo e detiveram-se com grande hesitação e dificuldade no rosto do prisioneiro. Dois exemplos adicionais bastarão. No oitavo dia do julgamento, depois da pausa diária do início da tarde para alguns minutos de descanso, voltei ao recinto da Corte com os demais jurados pouco antes do retorno dos juízes. De pé no banco do júri e olhando em volta, achei que a figura não estava ali, até que, erguendo o olhar para a galeria, eu a vi curvando-se para a frente, por sobre uma senhora muito respeitável, como se para se assegurar de que os juízes tinham voltado a seus assentos ou não. Logo depois a mulher gritou, desmaiou e foi levada para fora do recinto. Da mesma forma, com o venerável, sagaz e paciente juiz que conduzia o julgamento. Quando o caso foi encerrado e ele acomodou a si mesmo e aos papéis para analisá-los, o homem assassinado, entrando pela porta dos juízes, foi até a mesa do meritíssimo lorde e olhou ansioso por sobre o ombro dele para as páginas de anotações que ele manuseava. Uma mudança sobreveio à face do meritíssimo lorde, sua mão paralisou, houve o estranho tremor, que eu já conhecia tão bem, perpassando-lhe o corpo, e ele vacilou: – Desculpem-me cavalheiros, por alguns instantes. Sinto-me um pouco oprimido pelo ar viciado –, e não se recuperou até depois de beber um copo d’água. Ao longo de toda a monotonia de seis daqueles intermináveis dez dias – os mesmos juízes e os outros em sua bancada, o mesmo assassino no seu cancelo, os mesmos advogados na mesa, os mesmos tons de perguntas e respostas subindo até o teto do prédio da Corte Criminal, o mesmo arranhar da pena do juiz, os mesmos porteiros entrando e saindo, as mesmas luzes acesas à mesma hora quando havia ainda a luz do dia, a mesma cortina de cerração do lado de fora das grandes janelas quando estava nevoento, a mesma chuva batendo e pingando quando estava chuvoso, as mesmas pegadas de carcereiros e prisioneiro sobre a mesma serragem, as mesmas chaves trancando e destrancando as mesmas portas pesadas –, ao longo de toda a monotonia desgastante que me fez sentir como se eu fosse um porta-voz de júri havia milênios e como se Picadilly tivesse florescido paralelamente à Babilônia, o homem assassinado nunca perdeu um traço sequer de tudo que o tornava diferente aos meus olhos e nunca deixou de ser diferente dos demais. Por sinal, devo salientar que em momento algum vi a aparição, que chamo de o homem assassinado, olhar para o assassino. Repetidamente eu me perguntava “por que será que ele não o olha?” Mas ele nunca olhou. Também não olhou mais para mim desde quando foi apresentada o retrato até os últimos minutos de conclusão do julgamento. Nós nos retiramos para deliberar aos sete minutos antes das dez da noite. O conselheiro paroquial idiota e seus dois paroquianos parasitas nos deram tanto trabalho que tivemos de voltar duas vezes à Corte para solicitar a releitura de algumas anotações do juiz. Nove de nós estávamos cem por cento seguros sobre aquelas passagens do julgamento, bem como, acredito eu, qualquer pessoa daquela Corte Criminal; o triunvirato cabeças de vento, contudo, tendo por finalidade tão somente obstruir, questionava aquelas anotações do juiz justamente por essa razão. Por fim, nós prevalecemos, e finalmente o júri retornou à sala da Corte aos dez minutos depois da meianoite. O homem assassinado naquele momento colocou-se no lado exatamente oposto ao reservado do júri, no outro lado da sala da Corte. Quando tomei o meu lugar, ele fixou os olhos em mim com grande atenção; parecia satisfeito e com vagar agitou um enorme véu cinza, que trazia em seu braço pela primeira vez – agitou-o acima da cabeça, acima de toda a sua figura. Quando proferi o veredicto culpado, o véu caiu, tudo desapareceu, e o lugar do homem assassinado estava vazio. O assassino, ao ser instado pelo juiz, de acordo com a regra, a pronunciar-se caso tivesse algo a dizer antes de receber a sentença de morte, murmurou algo indistinto que foi descrito nos principais jornais do dia seguinte como “algumas palavras desconexas, incoerentes e quase inaudíveis, entendidas como uma queixa de que ele não havia recebido um julgamento justo – porque o porta-voz do júri estava predisposto contra ele. A surpreendente declaração, que de fato ele fez, foi: “Meritíssimo, eu sabia que estava condenado quando o porta-voz entrou no reservado do júri. Meritíssimo, eu sabia que com ele eu não teria escapatória, porque, antes de eu ser preso, ele de algum modo chegou-se ao meu leito, uma noite, me acordou e pôs uma corda no meu pescoço”.
Sempre percebi uma persistente carência de coragem, mesmo entre pessoas de cultura e inteligência superiores, para dar a conhecer suas próprias experiências psicológicas quando estas têm características estranhas. Quase todas as pessoas temem que aquilo que pudessem narrar nesse âmbito não encontraria paralelo ou eco na experiência do ouvinte e poderia levar ao descrédito ou ser objeto de caçoada. Um viajante confiável, que tivesse visto alguma extraordinária criatura parecida com uma serpente marinha, não teria receio de mencioná-la, mas esse mesmo viajante, se tivesse sido tomado por algum pressentimento invulgar, um impulso, um devaneio, uma (assim chamada) visão, sonho ou outra impressão mental marcante, teria hesitado de forma considerável antes de revelá-la. A essa reticência atribuo, em grande parte, a obscuridade que envolve tais assuntos. De hábito, não comunicamos nossas experiências com essas coisas subjetivas como o fazemos com nossas experiências de criação objetiva. A consequência é que o estoque geral de experiências desse tipo parece excepcional, e de fato o é, no sentido de serem miseravelmente imperfeitas. Neste meu relato não há a mais leve intenção de montar, opor ou apoiar uma teoria, seja ela qual for. Conheço a história do livreiro de Berlim. Estudei o caso da esposa de um falecido astrônomo real, segundo a narrativa de Sir David Brewster, e acompanhei os mínimos detalhes de um ainda mais notável caso de ilusão espectral acontecido no meu círculo de amigos íntimos. É necessário esclarecer que, quanto ao último caso, a atingida (uma senhora) não tinha nenhum parentesco, mesmo que distante, comigo. Uma suposição errônea nessa direção poderia sugerir uma explicação de parte do meu próprio caso – mas apenas de parte –, o que seria totalmente infundado. O meu caso não se pode vincular a nenhuma particularidade minha, herdada, que eu tivesse desenvolvido; também nunca antes tive uma experiência como essa, tampouco remotamente similar a essa; e mesmo depois, nunca mais tive uma experiência como essa e nem remotamente similar a ela. Não importa se foi há muito tempo ou se foi agora há pouco, um certo assassinato cometido na Inglaterra atraiu grande atenção. Ouve-se falar mais do que o suficiente a respeito de assassinos à medida que cada um deles vai subindo em sua carreira de atrocidades, e eu gostaria de sepultar a lembrança desse bruto em particular, se pudesse, da mesma forma que o seu corpo foi enterrado na prisão de Newgate. De propósito, abstenho-me de fornecer qualquer pista que possa levar à identidade do criminoso. Quando o assassinato foi descoberto, nenhuma suspeita recaiu – aliás, eu deveria dizer, pois não devo ser muito preciso nos fatos, que publicamente nada sugeria que qualquer suspeita viesse a recair – sobre o homem que posteriormente foi a julgamento. Como na época nenhuma referência a ele foi feita nos jornais, é obviamente impossível que alguma descrição dele tivesse aparecido nos mesmos. É absolutamente essencial que este fato seja lembrado. Folheando, no café da manhã, meu jornal matutino, contendo o relato da primeira descoberta, achei aquilo muito interessante e li com atenção redobrada. Li duas vezes, talvez três. O fato ocorrera num quarto de dormir e, quando larguei o jornal, dei-me conta de que tinha se passado em mim um lampejo... uma chispada... uma luz... – eu não sei que nome dar a isso – nenhum termo que conheço consegue descrever isso – e me pareceu que eu enxerguei aquele quarto atravessando o meu, como uma pintura impossível, cuja tela fosse a correnteza de um rio. Embora quase instantâneo ao passar, foi perfeitamente nítido, tão nítido que observei distintamente, e com uma sensação de alívio, a ausência do corpo morto na cama. Não foi em nenhum lugar romântico que tive essa curiosa sensação, mas em um aposento em Picadilly, bem perto da esquina com a Saint James Street. Foi uma sensação inusitada para mim. Estava em minha poltrona naquele momento, e a sensação foi acompanhada de um estranho estremecimento, que chegou a mover a cadeira. (Mas deve-se mencionar que era uma cadeira com rodinhas.) Fui até uma das janelas (há duas no quarto, e o quarto fica no segundo andar) para descansar meus olhos vendo o movimento de Picadilly. Era uma manhã ensolarada de outono, e a rua estava cintilante e animada. O vento soprava forte. Ao olhar para fora, vi que carregava as folhas caídas das árvores do parque, e uma rajada mais forte fez com que rodopiassem, formando uma coluna de folhas em espiral. Ao se desfazer a coluna e se dispersarem as folhas, vi dois homens na calçada oposta, indo de Oeste para Leste. Andavam um atrás do outro. O da frente olhava frequentemente para trás, por cima do ombro. O segundo o seguia, a uma distância de uns trinta passos, a mão direita erguida de modo ameaçador. Em primeiro lugar, a singularidade e a firmeza desse gesto, em plena via pública, atraíram minha atenção; e, também, uma circunstância incrível: ninguém notava. Ambos abriam caminho entre os pedestres com uma suavidade rara para a ação de andar em calçadas; e nenhuma criatura, que eu pudesse ver, lhes dava passagem, esbarrava neles ou sequer os olhava. Ao passarem por minha janela, ambos me encararam. Vi seus rostos com nitidez e percebi que poderia reconhecê-los em qualquer lugar. Não que eu conscientemente percebesse algo marcante em seus rostos, exceto que o homem à frente parecia abatido e o rosto do homem de trás tinha cor de cera usada. Eu sou um solteirão, e meu criado de quarto e sua esposa constituem tudo o que tenho de doméstico. Trabalho na filial de um banco e gostaria que meus deveres como chefe de departamento fossem tão leves quanto popularmente supõe-se que sejam. Eles me retiveram na cidade naquele outono, quando eu mais precisava de uma mudança de ares. Não estava doente, mas não estava bem. Meu leitor deve procurar imaginar tanto quanto possível a vida monótona que levo e que me deprime, além de eu estar “levemente dispéptico”. Meu renomado médico assegurou-me que o meu real estado de saúde naquela época não justificava uma descrição mais séria, e estou me baseando em sua resposta escrita, feita a meu pedido. À medida que as circunstâncias do assassinato eram gradualmente desvendadas e tomavam conta da imaginação do público, eu as mantinha afastadas da minha mente, conservando-me o mais distante possível das notícias, em meio à comoção geral. Mas eu sabia que um indiciamento sob acusação de homicídio premeditado fora pronunciado contra o assassino suspeito, e que ele tinha sido levado à prisão de Newgate para aguardar julgamento. Também soube que mais de uma vez as sessões de seu julgamento tinham sido adiadas na Corte Criminal, com a alegação de que havia pareceres preconceituosos e necessidade de tempo para a preparação da defesa. Talvez eu também soubesse, mas acho que não, quando, ou aproximadamente quando, aconteceriam as sessões que incluíam o julgamento daquele réu. Minha sala de estar, quarto de dormir e quarto de vestir estão todos num mesmo andar. Com este último só há comunicação através do quarto de dormir. A bem da verdade, há uma porta nele que antigamente se comunicava com a escada. Mas uma parte da instalação de minha banheira – e isso já faz uns bons anos – fez com que essa porta ficasse bloqueada. Naquela época, como parte dessa reforma, a porta foi pregada à portalada e totalmente recoberta com lona. Eu estava no meu quarto, tarde da noite, dando algumas instruções ao meu criado antes de ele ir para a cama. Meu rosto estava virado para a única porta de comunicação com o quarto de vestir, e ela estava fechada. O criado estava de costas para a porta. Enquanto eu falava, vi a porta se abrir, um homem olhar para dentro do meu quarto e, grave e misteriosamente, acenar para mim. Esse homem era o de trás, daqueles dois em Picadilly, cujo rosto era da cor de cera usada. A figura, depois de acenar, retrocedeu e fechou a porta. Após um intervalo que não durou mais tempo do que eu precisava para atravessar o quarto, abri a porta do quarto de vestir e olhei para dentro. Eu já estava com uma vela acesa na mão. Não tinha a menor expectativa de ver a figura no quarto de vestir, e realmente não vi nada ali. Consciente de que meu criado estava estupefato, virei-me para ele e disse: – Derrick, você acreditaria que em meu juízo perfeito imaginei ter visto um... – nesse momento, pousei a mão no seu peito, e ele, com um repentino e violento tremor, disse: – Ah, Deus, sim, senhor! Um homem morto acenando! Agora, eu não acredito que John Derrick, meu criado de confiança, dedicado e afeito a mim por mais de vinte anos, tivesse tido a menor impressão de ter visto aquela figura – até eu tocar nele. Sua mudança foi tão incrível quando o toquei que acredito piamente que naquele instante a impressão dele, de alguma maneira oculta, derivou de mim.
Pedi a John Derrick que me trouxesse conhaque, ofereci-lhe um trago e fiquei contente em tomar um eu também. Sobre o que precedera o fenômeno daquela noite, eu não lhe disse uma única palavra. Refletindo a respeito, eu tinha absoluta certeza de nunca ter visto aquele rosto antes, exceto naquela única ocasião em Picadilly. Comparando a expressão dele, de quando acenou da porta, com aquela expressão ao olhar para cima e me encarar, estando eu na minha janela, cheguei à conclusão de que na primeira vez ele tinha procurado fixar a imagem de seu rosto em minha memória – e na segunda, quis se assegurar de que podia ser imediatamente relembrado. Não fiquei muito à vontade naquela noite, embora tivesse uma certeza, difícil de explicar, de que a figura não retornaria. Com a luz do dia caí num sono profundo, do qual fui despertado pela chegada de John Derrick com um papel na mão. Esse papel, parece, tinha sido objeto de uma altercação, ainda na porta, entre o portador e meu criado. Era uma notificação para que eu fizesse parte do júri nas próximas sessões da Corte Criminal Central em Old Bailey. Eu nunca tinha sido notificado para compor um júri, coisa que John Derrick sabia muito bem. Ele achava – agora não estou certo se com ou sem razão – que esse tipo de jurado costumava ser escolhido entre pessoas de menor qualificação do que a minha e, num primeiro momento, recusou-se a aceitar a notificação. O homem que a entregou foi muito frio. Disse que meu comparecimento ou ausência nada significavam para ele, e ali estava a notificação; o risco das consequências era meu, e não dele. Por um dia ou dois fiquei indeciso entre atender ao chamado da Corte ou desconsiderá-lo. Eu não tinha a menor consciência de estar misteriosamente predisposto, influenciado ou levado a fazer uma coisa ou outra. Disso estou tão certo quanto de qualquer outra afirmação que faço aqui. Por fim decidi, para quebrar a monotonia de minha vida, que compareceria. A manhã marcada foi uma manhã feia de novembro. Havia uma cerração densa e parda em Picadilly que foi ficando cada vez mais escura e opressiva nas proximidades do lado leste da monumental Temple Bar, uma das entradas da cidade de Londres. Os corredores e as escadarias do prédio da Corte Criminal Central brilhavam com a iluminação a gás, assim como todo o prédio. Acho que até ser conduzido pelos meirinhos ao recinto da Velha Corte e vê-la lotada, eu não sabia que o assassino seria julgado naquela data. Acho que até o momento em que me conduziram até ali, com dificuldade, em meio à multidão, eu não sabia para qual das duas cortes fora emitida a minha notificação. Mas isso não deve ser tomado como uma asserção, porque não estou seguro de nada quanto a esses dois pontos. Tomei o meu assento no lugar reservado aos jurados à espera de serem chamados e olhei em volta, na medida do possível, através da nuvem de cerração abafada que pesava no ar. Notei que um vapor escuro pendia como uma cortina lúgubre do lado de fora das grandes janelas e notei o som abafado das rodas sobre a palha e o tanino dos curtumes jogados na rua; também, o murmúrio do povo ali reunido, trespassado às vezes por um apito estridente ou uma canção ou uma saudação mais alta que as outras. Logo após, os juízes, em número de dois, entraram e tomaram seus lugares. O rumor na Corte imediatamente enfraqueceu. Foi dada a ordem para colocar o assassino no cancelo dos réus. E ali ele surgiu. E no mesmo instante eu o reconheci como sendo o primeiro dos dois homens que eu tinha visto caminhando em Picadilly. Se meu nome tivesse sido chamado nesse momento, duvido que eu pudesse ter respondido de modo audível. Mas foram chamados cerca de seis ou oito componentes da lista de jurados, e então me senti capaz de dizer: – Presente! Agora, observe. Ao entrar em minha ala, o prisioneiro, que antes estivera examinando tudo atentamente, mas sem nenhum sinal de preocupação, ficou extremamente agitado e fez um sinal para o seu advogado. O desejo do prisioneiro, de me desafiar, era tão evidente que ocasionou uma pausa, durante a qual o advogado, com a mão sobre o balaústre, sussurrou algo para seu cliente e fez que não com a cabeça. Mais adiante eu soube, por esse cavalheiro, que as primeiras palavras aterrorizadas dirigidas a ele pelo prisioneiro foram: “A qualquer custo, recuse aquele jurado!”. Mas, por não dar motivo algum para tal e por admitir nunca ter ouvido meu nome antes de eu ser chamado e me apresentar, nisso ele não foi atendido. Tanto em relação ao que aqui já foi relatado, pela vontade de evitar reviver a lembrança malsã daquele assassino, e também porque um relato detalhado de seu longo julgamento não é indispensável à minha narrativa, vou me restringir aos incidentes dos dez dias e noites durante os quais nós, do júri, fomos mantidos juntos, como ficou registrado em minha curiosa experiência pessoal. É colocando ênfase nesse aspecto, e não no assassino, que procuro despertar o interesse do meu leitor. É para isso, e não para uma página dos Registros de Newgate, que eu peço sua atenção. Fui escolhido porta-voz do júri. Na segunda manhã do julgamento, depois de as provas terem sido apresentadas durante duas horas (ouvi tocar o relógio da igreja), olhando num dado momento para meus colegas jurados, encontrei uma inexplicável dificuldade em contá-los. Contei-os várias vezes, sempre com a mesma dificuldade. Em resumo, contava sempre um a mais. Toquei o colega ao meu lado e sussurrei-lhe: – Faça-me o obséquio de contar quantos somos. Ele pareceu surpreso com o pedido, mas virou-se e contou. – Ora – diz ele, subitamente –, nós somos tre... mas não, não é possível. Não. Nós somos doze. De acordo com a minha contagem naquele dia, estávamos sempre no número certo separadamente, mas no conjunto somávamos sempre um a mais. Não havia nenhuma aparição – nenhuma criatura – que explicasse aquilo, mas eu guardava em meu íntimo um presságio de que essa figura certamente iria aparecer. O júri ficou hospedado na London Tavern. Dormíamos todos em um grande aposento dos meirinhos, em nichos separados, e estávamos constantemente sob o olhar e a cargo dos meirinhos juramentados para cuidar de nossa segurança. Não vejo razão para omitir o nome verdadeiro daquele meirinho. Ele era inteligente, muito bem-educado, obsequioso e (fiquei contente em saber) muito respeitado na cidade. Tinha uma presença agradável, olhos bondosos, invejáveis suíças pretas e uma bela voz, sonora. Seu nome era Mr. Harker. Quando nos recolhíamos às nossas doze camas à noite, a de Mr. Harker ficava atravessada na porta. Na noite do segundo dia, não estando disposto a me deitar, e vendo Mr. Harker sentado em sua cama, fui sentarme a seu lado e lhe ofereci um pitada de rapé. Quando a mão de Mr. Harker tocou a minha, ao pegar a caixinha de rapé, um estranho arrepio sacudiu-o, e ele disse: – Quem está aí? Acompanhando o olhar de Mr. Harker, e olhando ao longo do aposento, vi novamente a figura que esperava – o segundo dos dois homens andando em Picadilly. Eu me pus de pé e avancei alguns passos; então parei e me virei para olhar para Mr. Harker. Ele estava despreocupado, rindo, e disse de um modo jovial: – Pensei por um momento que tínhamos um 13o jurado, sem cama. Mas vejo que é o luar. Nada revelando a Mr. Harker, mas convidando-o a andar até o outro lado do aposento, vigiei o que a figura fazia. Parava por alguns momentos ao lado da cama de cada um dos meus onze colegas jurados, sempre próximo ao travesseiro. Ia sempre pelo lado direito da cama e passava sempre pelos pés da cama seguinte. Pelo movimento da cabeça, parecia olhar pensativo para a pessoa em repouso. Não tomou conhecimento de mim, nem de minha cama, que era a mais próxima da de Mr. Harker. Pareceu sumir por onde o luar se insinuava, através de uma janela muito alta, como se ali houvesse uma escada no ar. No dia seguinte, no café da manhã, parecia que todos os presentes tinham sonhado com o homem assassinado, exceto eu mesmo e Mr. Harker. Eu agora já me considerava convencido de que o segundo homem andando em Picadilly era o homem (por assim dizer) assassinado, como se esse entendimento houvesse penetrado a minha mente através de um testemunho direto. Mas até isto que se segue ocorreu, e de um modo para o qual eu não estava nem um pouco preparado. No quinto dia do julgamento, quando a promotoria estava se aproximando de seu discurso de encerramento, um retrato em miniatura do homem assassinado, desaparecido de seu quarto após a descoberta do crime, e posteriormente encontrado num local escondido onde o assassino tinha sido visto cavando, foi apresentado como prova. Identificada o retrato pela testemunha que estava sendo interrogada, foi levada então à mesa dos juízes e depois também para ser inspecionada pelo júri. No momento em que o meirinho, em sua veste preta, tentava entregá-la a mim, a figura do segundo homem andando em Picadilly impetuosamente surgiu dentre os assistentes, tirou do meirinho a miniatura e entregou-a diretamente a mim, com suas próprias mãos, dizendo, num tom baixo e cavo – antes de eu ver o retrato, que estava num medalhão: “Eu era mais jovem na época, e meu rosto não estava exangue”. A figura também acompanhou a prova quando esta passou de mim para o meu colega ao lado, e assim por diante, até retornar para mim. Nenhum deles, no entanto, detectou isso. À mesa, e geralmente nos momentos em que ficávamos fechados, sob a custódia de Mr. Harker, vínhamos, desde o início, discutindo, naturalmente, os trâmites legais do dia. Naquele quinto dia, tendo a promotoria concluído seu libelo acusatório e estando para nós já delineado esse lado da questão, nossa discussão se tornou mais animada e séria. Entre nós havia um conselheiro paroquial – o idiota mais completo que já vi – que via na mais comum das evidências as mais disparatadas objeções e que estava ladeado por dois paroquianos parasitas e débeis; todos os três listados como jurados de um distrito tão esvaziado pela febre que eles mesmos deveriam estar sendo julgados por quinhentos assassinatos. Quando esses cabeças ocas encrenqueiros estavam no seu máximo, ali pela meia-noite, enquanto alguns de nós já se preparavam para dormir, vi novamente o homem assassinado. Ele ficou parado atrás dos paroquianos, com um jeito sinistro, acenando para mim. Ao me dirigir até eles, interrompendo-lhes a conversa, o morto imediatamente se retirou. Esse foi o início de uma série de aparições, confinadas àquele grande aposento onde nós estávamos confinados. Toda vez que um grupinho de colegas juntava suas cabeças, eu via a cabeça do homem assassinado entre elas. Toda vez que uma comparação nos registros lhe era desfavorável, ele solene e indubitavelmente tratava de me acenar. Deve-se ter em mente que, até aparecer o retrato, no quinto dia do julgamento, eu nunca tinha visto a aparição na Corte Criminal. Três mudanças ocorreram, agora que entrávamos nas alegações finais da Defesa. Duas delas, mencionarei juntas, em primeiro lugar. A figura agora estava sempre na Corte e nunca se dirigia a mim, mas sempre à pessoa que estivesse falando no momento. Por exemplo: a garganta do homem morto tinha sido cortada de um lado a outro, num único talho. Na abertura da exposição da Defesa, foi sugerido que o falecido poderia ter cortado a própria garganta. Nesse exato momento, a figura, com a garganta na horrível condição referida (isto ela havia ocultado antes), ficou ao lado do orador, movendo de um lado para outro sua traqueia, ora com a mão esquerda, ora com a direita, vigorosamente sugerindo ao orador a impossibilidade de que tal ferimento tivesse sido autoinfligido. Outro exemplo: uma testemunha do caráter do acusado, uma mulher, depôs a favor do mesmo como sendo o homem mais amável do mundo. A figura, nesse instante, postou-se diante dela, encarando-a bem de frente, e, braço estendido e dedo em riste, apontou as feições malvadas do prisioneiro. A terceira mudança me impressionou fortemente como o mais marcante de tudo. Eu não teorizo sobre isso; afirmo peremptoriamente e deixo assim. Embora a aparição não fosse percebida por aqueles a quem se dirigia, sua aproximação era invariavelmente seguida de algum estremecimento ou perturbação nesses homens. Parecia-me que a ela era impossível, por leis que não alcanço, revelar-se aos outros e, ainda assim, era como se pudesse – visível, calada e sombriamente – anuviar suas mentes. Quando o principal advogado da defesa sugeriu aquela hipótese de suicídio, e a figura ficou ao lado desse letrado cavalheiro, num gesto pavoroso de serrar a garganta, é inegável que o advogado vacilou em sua fala, perdeu por alguns segundos o fio de seu engenhoso discurso, secou a testa com um lenço e ficou extremamente pálido. Quando a testemunha do caráter do réu foi confrontada pela aparição, os olhos da mulher claramente seguiram a direção em que a aparição apontou o dedo e detiveram-se com grande hesitação e dificuldade no rosto do prisioneiro. Dois exemplos adicionais bastarão. No oitavo dia do julgamento, depois da pausa diária do início da tarde para alguns minutos de descanso, voltei ao recinto da Corte com os demais jurados pouco antes do retorno dos juízes. De pé no banco do júri e olhando em volta, achei que a figura não estava ali, até que, erguendo o olhar para a galeria, eu a vi curvando-se para a frente, por sobre uma senhora muito respeitável, como se para se assegurar de que os juízes tinham voltado a seus assentos ou não. Logo depois a mulher gritou, desmaiou e foi levada para fora do recinto. Da mesma forma, com o venerável, sagaz e paciente juiz que conduzia o julgamento. Quando o caso foi encerrado e ele acomodou a si mesmo e aos papéis para analisá-los, o homem assassinado, entrando pela porta dos juízes, foi até a mesa do meritíssimo lorde e olhou ansioso por sobre o ombro dele para as páginas de anotações que ele manuseava. Uma mudança sobreveio à face do meritíssimo lorde, sua mão paralisou, houve o estranho tremor, que eu já conhecia tão bem, perpassando-lhe o corpo, e ele vacilou: – Desculpem-me cavalheiros, por alguns instantes. Sinto-me um pouco oprimido pelo ar viciado –, e não se recuperou até depois de beber um copo d’água. Ao longo de toda a monotonia de seis daqueles intermináveis dez dias – os mesmos juízes e os outros em sua bancada, o mesmo assassino no seu cancelo, os mesmos advogados na mesa, os mesmos tons de perguntas e respostas subindo até o teto do prédio da Corte Criminal, o mesmo arranhar da pena do juiz, os mesmos porteiros entrando e saindo, as mesmas luzes acesas à mesma hora quando havia ainda a luz do dia, a mesma cortina de cerração do lado de fora das grandes janelas quando estava nevoento, a mesma chuva batendo e pingando quando estava chuvoso, as mesmas pegadas de carcereiros e prisioneiro sobre a mesma serragem, as mesmas chaves trancando e destrancando as mesmas portas pesadas –, ao longo de toda a monotonia desgastante que me fez sentir como se eu fosse um porta-voz de júri havia milênios e como se Picadilly tivesse florescido paralelamente à Babilônia, o homem assassinado nunca perdeu um traço sequer de tudo que o tornava diferente aos meus olhos e nunca deixou de ser diferente dos demais. Por sinal, devo salientar que em momento algum vi a aparição, que chamo de o homem assassinado, olhar para o assassino. Repetidamente eu me perguntava “por que será que ele não o olha?” Mas ele nunca olhou. Também não olhou mais para mim desde quando foi apresentada o retrato até os últimos minutos de conclusão do julgamento. Nós nos retiramos para deliberar aos sete minutos antes das dez da noite. O conselheiro paroquial idiota e seus dois paroquianos parasitas nos deram tanto trabalho que tivemos de voltar duas vezes à Corte para solicitar a releitura de algumas anotações do juiz. Nove de nós estávamos cem por cento seguros sobre aquelas passagens do julgamento, bem como, acredito eu, qualquer pessoa daquela Corte Criminal; o triunvirato cabeças de vento, contudo, tendo por finalidade tão somente obstruir, questionava aquelas anotações do juiz justamente por essa razão. Por fim, nós prevalecemos, e finalmente o júri retornou à sala da Corte aos dez minutos depois da meianoite. O homem assassinado naquele momento colocou-se no lado exatamente oposto ao reservado do júri, no outro lado da sala da Corte. Quando tomei o meu lugar, ele fixou os olhos em mim com grande atenção; parecia satisfeito e com vagar agitou um enorme véu cinza, que trazia em seu braço pela primeira vez – agitou-o acima da cabeça, acima de toda a sua figura. Quando proferi o veredicto culpado, o véu caiu, tudo desapareceu, e o lugar do homem assassinado estava vazio. O assassino, ao ser instado pelo juiz, de acordo com a regra, a pronunciar-se caso tivesse algo a dizer antes de receber a sentença de morte, murmurou algo indistinto que foi descrito nos principais jornais do dia seguinte como “algumas palavras desconexas, incoerentes e quase inaudíveis, entendidas como uma queixa de que ele não havia recebido um julgamento justo – porque o porta-voz do júri estava predisposto contra ele. A surpreendente declaração, que de fato ele fez, foi: “Meritíssimo, eu sabia que estava condenado quando o porta-voz entrou no reservado do júri. Meritíssimo, eu sabia que com ele eu não teria escapatória, porque, antes de eu ser preso, ele de algum modo chegou-se ao meu leito, uma noite, me acordou e pôs uma corda no meu pescoço”.
UMA CRIANÇA SONHOU COM UMA ESTRELA
Houve uma vez um garotinho, e ele passeava muito e pensava numa porção de coisas. Ele tinha uma irmã, também criança, sua constante companhia. Esses dois passavam o dia admirando-se de tudo. Admiravamse da beleza das flores; admiravam-se da altura e do azul do céu; admiravam-se da profundidade da água cristalina; admiravam-se da bondade e do poder de Deus, que fez este adorável mundo. Às vezes, perguntavam um ao outro: se todas as crianças da terra morressem, será que as flores, a água e o céu ficariam tristes? Eles acreditavam que sim. Pois, diziam eles, os brotos das plantas são os filhos das flores; os riachinhos brincalhões que dão cambalhotas colinas abaixo são os filhos da água; os pontinhos brilhantes e bem, bem, bem pequenininhos que brincam de esconde-esconde no céu a noite inteira, com certeza são os filhos das estrelas; e todos esses iriam ficar tristes e pesarosos por não verem mais seus amiguinhos de brincadeiras, os filhos das mulheres. Havia uma estrela clara e brilhante que costumava aparecer no céu antes das outras, perto do pináculo da igreja, acima das sepulturas. Ela era maior, achavam eles, e mais bonita que todas as outras, e todas as noites eles esperavam por ela, de pé, de mãos dadas, junto à janela. Quem a visse primeiro, gritava: “Eu vi a estrela!”. E muitas vezes eles gritavam os dois ao mesmo tempo, já sabendo muito bem quando ela surgiria e onde. Assim, eles passaram a ser tão amigos da estrela que, antes de se deitarem para dormir, sempre olhavam mais uma vez para fora, para dar boa noite à estrela; e, quando se viravam para o outro lado na cama, de praxe diziam: “Que Deus abençoe a estrela!”. Mas, quando era ainda muito criança – ah, muito, muito criança! –, a irmãzinha descaiu e ficou tão fraca que não podia mais ficar de pé junto à janela à noite; e então o garotinho olhava para fora, muito triste, sozinho e, quando enxergava a estrela, ele se virava e dizia ao rostinho pálido e paciente na cama: “Eu vi a estrela!”, e então um sorriso surgia no rostinho, e uma voz fraquinha e sumida dizia: “Que Deus abençoe o meu irmão e a estrela!”. E então chegou rápida demais aquela noite, quando o menino olhou para fora sozinho; quando não havia mais o rostinho na cama; quando havia uma sepulturazinha no meio das sepulturas que antes não estava lá; e quando a estrela derramou longos raios sobre o menino enquanto ele a enxergava em meio às lágrimas. Agora, esses raios eram tão brilhantes e pareciam traçar um caminho tão cintilante desde a terra até o céu que, quando o garotinho foi dormir em sua cama solitária, ele sonhou com a estrela; e sonhou que, de onde ele estava deitado, via um séquito de pessoas subindo aquela estrada cintilante, levadas por anjos. E a estrela, abrindo-se, mostrou a ele um grande mundo de luz, onde muitos outros anjos como aqueles estavam esperando para recebê-las. Todos aqueles anjos, os que estavam aguardando as pessoas, voltavam seus olhares luminosos para aquela gente que estava sendo carregada para dentro da estrela; e alguns saíam das longas fileiras em que estavam e caíam sobre o pescoço das pessoas e beijavam-nas com ternura e iam embora com elas, andando por avenidas de luz, e estavam tão felizes em sua companhia que, deitado em sua cama, o garotinho chorou de alegria. Mas muitos daqueles anjos não foram junto com as pessoas, e, entre estes, um que ele conhecia. O rostinho paciente que por algum tempo esteve na cama estava glorificado e radiante, e desse modo o coração do garotinho descobriu sua irmã no meio daquela enorme multidão. O anjo de sua irmã demorou-se perto da entrada da estrela e perguntou ao líder daqueles que carregavam as pessoas lá para cima: “O meu irmão veio?”. E ele respondeu: “Não”. Ela já estava se virando, esperançosa, quando o garotinho abriu os braços e gritou: “Mana, eu estou aqui! Pode me levar!”, e ela fixou seu olhar luminoso sobre ele e fez-se noite; e a estrela estava brilhando dentro do quarto, derramando seus longos raios sobre ele, bem como ele havia enxergado em meio às lágrimas. Daquela hora em diante, o garotinho olhava para a estrela como se estivesse olhando para o lar aonde ele iria quando sua hora chegasse; e pensava que não só a terra era o seu lugar, mas a estrela também, porque o anjo de sua irmã fora para lá antes dele. Houve o nascimento de um bebê que veio para ser o irmão do garotinho; e quando esse irmão era ainda muito pequeninho, tanto que ainda não havia dito uma palavra sequer, ele estirou o seu corpinho minúsculo na cama e morreu. De novo, o garotinho sonhou com a estrela que se abria, com a companhia dos anjos, com o séquito de pessoas e com as fileiras de anjos de olhares luminosos voltados para os rostos daquelas pessoas. Perguntou o anjo de sua irmã ao líder: “O meu irmão veio?”. E ele respondeu: “Aquele não, mas veio um outro”. Quando o garotinho viu o anjo de seu irmão nos braços de sua irmãzinha, ele gritou: “Mana, eu estou aqui! Pode me levar!”. E ela se virou e sorriu para ele, e a estrela estava brilhando. Ele cresceu e se tornou um rapaz, e estava ocupado com seus livros quando um velho empregado da casa aproximou-se e disse: “A senhora sua mãe acaba de falecer. Venho trazer a bênção dela para o seu querido filho”. De novo, à noite, ele viu a estrela e todos os seus antigos acompanhantes. Perguntou o anjo da irmãzinha ao líder: “O meu irmão veio?”. E ele respondeu: “A senhora sua mãe!”. Um poderoso grito de alegria atravessou a estrela de ponta a ponta, pois a mãe reencontrou-se com dois de seus filhos. E ele abriu os braços e gritou: “Mãe, mana e mano, eu estou aqui! Podem me levar!”. E eles responderam: “Ainda não!”, e a estrela estava brilhando. Ele amadureceu e se tornou um homem, e seu cabelo estava ficando grisalho, e ele estava sentado próximo à lareira, o coração pesado de tanta dor e o rosto úmido de lágrimas, quando a estrela se abriu mais uma vez. Perguntou o anjo de sua irmã para o líder: “O meu irmão veio?”. E ele respondeu: “Não, foi a filha dele, que ainda nem havia casado!”. E o homem que fora antes o garotinho viu a filha, recém-falecida, uma criatura celestial no meio daqueles três, e disse: “A cabeça da minha filha está no peito de minha irmã, e o braço de minha filha enlaça o pescoço de minha mãe, e aos pés de minha filha está aquele bebê dos velhos tempos, e eu consigo suportar a perda de minha filha. Deus seja louvado!”. E a estrela estava brilhando. Assim, o garotinho envelheceu, e o seu rosto, que um dia fora lisinho, estava enrugado, os seus passos agora eram lentos e trôpegos, e suas costas, encurvadas. E uma noite, ao acomodar-se para dormir, seus filhos ao redor da cama, ele gritou, como havia gritado muito tempo atrás: “Eu vi a estrela!”. Eles sussurraram uns aos outros: “Ele está morrendo”. E ele disse: “Estou, sim. Minha vida de adulto está caindo de mim como se fosse uma roupa, e eu estou indo em direção à estrela como um garotinho. E, meu Pai do Céu, agora eu vos agradeço por ela se ter aberto tantas vezes para receber dentro de si os meus entes queridos, que estão me aguardando!”. E a estrela estava brilhando; e ela brilha sobre o seu túmulo.
Houve uma vez um garotinho, e ele passeava muito e pensava numa porção de coisas. Ele tinha uma irmã, também criança, sua constante companhia. Esses dois passavam o dia admirando-se de tudo. Admiravamse da beleza das flores; admiravam-se da altura e do azul do céu; admiravam-se da profundidade da água cristalina; admiravam-se da bondade e do poder de Deus, que fez este adorável mundo. Às vezes, perguntavam um ao outro: se todas as crianças da terra morressem, será que as flores, a água e o céu ficariam tristes? Eles acreditavam que sim. Pois, diziam eles, os brotos das plantas são os filhos das flores; os riachinhos brincalhões que dão cambalhotas colinas abaixo são os filhos da água; os pontinhos brilhantes e bem, bem, bem pequenininhos que brincam de esconde-esconde no céu a noite inteira, com certeza são os filhos das estrelas; e todos esses iriam ficar tristes e pesarosos por não verem mais seus amiguinhos de brincadeiras, os filhos das mulheres. Havia uma estrela clara e brilhante que costumava aparecer no céu antes das outras, perto do pináculo da igreja, acima das sepulturas. Ela era maior, achavam eles, e mais bonita que todas as outras, e todas as noites eles esperavam por ela, de pé, de mãos dadas, junto à janela. Quem a visse primeiro, gritava: “Eu vi a estrela!”. E muitas vezes eles gritavam os dois ao mesmo tempo, já sabendo muito bem quando ela surgiria e onde. Assim, eles passaram a ser tão amigos da estrela que, antes de se deitarem para dormir, sempre olhavam mais uma vez para fora, para dar boa noite à estrela; e, quando se viravam para o outro lado na cama, de praxe diziam: “Que Deus abençoe a estrela!”. Mas, quando era ainda muito criança – ah, muito, muito criança! –, a irmãzinha descaiu e ficou tão fraca que não podia mais ficar de pé junto à janela à noite; e então o garotinho olhava para fora, muito triste, sozinho e, quando enxergava a estrela, ele se virava e dizia ao rostinho pálido e paciente na cama: “Eu vi a estrela!”, e então um sorriso surgia no rostinho, e uma voz fraquinha e sumida dizia: “Que Deus abençoe o meu irmão e a estrela!”. E então chegou rápida demais aquela noite, quando o menino olhou para fora sozinho; quando não havia mais o rostinho na cama; quando havia uma sepulturazinha no meio das sepulturas que antes não estava lá; e quando a estrela derramou longos raios sobre o menino enquanto ele a enxergava em meio às lágrimas. Agora, esses raios eram tão brilhantes e pareciam traçar um caminho tão cintilante desde a terra até o céu que, quando o garotinho foi dormir em sua cama solitária, ele sonhou com a estrela; e sonhou que, de onde ele estava deitado, via um séquito de pessoas subindo aquela estrada cintilante, levadas por anjos. E a estrela, abrindo-se, mostrou a ele um grande mundo de luz, onde muitos outros anjos como aqueles estavam esperando para recebê-las. Todos aqueles anjos, os que estavam aguardando as pessoas, voltavam seus olhares luminosos para aquela gente que estava sendo carregada para dentro da estrela; e alguns saíam das longas fileiras em que estavam e caíam sobre o pescoço das pessoas e beijavam-nas com ternura e iam embora com elas, andando por avenidas de luz, e estavam tão felizes em sua companhia que, deitado em sua cama, o garotinho chorou de alegria. Mas muitos daqueles anjos não foram junto com as pessoas, e, entre estes, um que ele conhecia. O rostinho paciente que por algum tempo esteve na cama estava glorificado e radiante, e desse modo o coração do garotinho descobriu sua irmã no meio daquela enorme multidão. O anjo de sua irmã demorou-se perto da entrada da estrela e perguntou ao líder daqueles que carregavam as pessoas lá para cima: “O meu irmão veio?”. E ele respondeu: “Não”. Ela já estava se virando, esperançosa, quando o garotinho abriu os braços e gritou: “Mana, eu estou aqui! Pode me levar!”, e ela fixou seu olhar luminoso sobre ele e fez-se noite; e a estrela estava brilhando dentro do quarto, derramando seus longos raios sobre ele, bem como ele havia enxergado em meio às lágrimas. Daquela hora em diante, o garotinho olhava para a estrela como se estivesse olhando para o lar aonde ele iria quando sua hora chegasse; e pensava que não só a terra era o seu lugar, mas a estrela também, porque o anjo de sua irmã fora para lá antes dele. Houve o nascimento de um bebê que veio para ser o irmão do garotinho; e quando esse irmão era ainda muito pequeninho, tanto que ainda não havia dito uma palavra sequer, ele estirou o seu corpinho minúsculo na cama e morreu. De novo, o garotinho sonhou com a estrela que se abria, com a companhia dos anjos, com o séquito de pessoas e com as fileiras de anjos de olhares luminosos voltados para os rostos daquelas pessoas. Perguntou o anjo de sua irmã ao líder: “O meu irmão veio?”. E ele respondeu: “Aquele não, mas veio um outro”. Quando o garotinho viu o anjo de seu irmão nos braços de sua irmãzinha, ele gritou: “Mana, eu estou aqui! Pode me levar!”. E ela se virou e sorriu para ele, e a estrela estava brilhando. Ele cresceu e se tornou um rapaz, e estava ocupado com seus livros quando um velho empregado da casa aproximou-se e disse: “A senhora sua mãe acaba de falecer. Venho trazer a bênção dela para o seu querido filho”. De novo, à noite, ele viu a estrela e todos os seus antigos acompanhantes. Perguntou o anjo da irmãzinha ao líder: “O meu irmão veio?”. E ele respondeu: “A senhora sua mãe!”. Um poderoso grito de alegria atravessou a estrela de ponta a ponta, pois a mãe reencontrou-se com dois de seus filhos. E ele abriu os braços e gritou: “Mãe, mana e mano, eu estou aqui! Podem me levar!”. E eles responderam: “Ainda não!”, e a estrela estava brilhando. Ele amadureceu e se tornou um homem, e seu cabelo estava ficando grisalho, e ele estava sentado próximo à lareira, o coração pesado de tanta dor e o rosto úmido de lágrimas, quando a estrela se abriu mais uma vez. Perguntou o anjo de sua irmã para o líder: “O meu irmão veio?”. E ele respondeu: “Não, foi a filha dele, que ainda nem havia casado!”. E o homem que fora antes o garotinho viu a filha, recém-falecida, uma criatura celestial no meio daqueles três, e disse: “A cabeça da minha filha está no peito de minha irmã, e o braço de minha filha enlaça o pescoço de minha mãe, e aos pés de minha filha está aquele bebê dos velhos tempos, e eu consigo suportar a perda de minha filha. Deus seja louvado!”. E a estrela estava brilhando. Assim, o garotinho envelheceu, e o seu rosto, que um dia fora lisinho, estava enrugado, os seus passos agora eram lentos e trôpegos, e suas costas, encurvadas. E uma noite, ao acomodar-se para dormir, seus filhos ao redor da cama, ele gritou, como havia gritado muito tempo atrás: “Eu vi a estrela!”. Eles sussurraram uns aos outros: “Ele está morrendo”. E ele disse: “Estou, sim. Minha vida de adulto está caindo de mim como se fosse uma roupa, e eu estou indo em direção à estrela como um garotinho. E, meu Pai do Céu, agora eu vos agradeço por ela se ter aberto tantas vezes para receber dentro de si os meus entes queridos, que estão me aguardando!”. E a estrela estava brilhando; e ela brilha sobre o seu túmulo.
FANTASMAS DE NATAL
Eu gosto de ir para casa no Natal. Todo mundo vai para casa no Natal, ou pelo menos deveria ir. Devemos poder passar os feriados em casa – quanto maior o feriado, melhor –, sair do enorme internato onde estamos sempre trabalhando em nossas lousas aritméticas, tanto para tirar um descanso, quanto para dar um descanso aos outros. Viaja-se para casa no meio de uma paisagem de inverno; por terrenos com neblina baixa, atravessamos bruma e brejo, bruma e brejo, subimos por compridas colinas, sinuosas e escuras como cavernas no meio de uma vegetação densa que por pouco não obstrui o brilho das estrelas; depois, estamos nos amplos planaltos até que paramos por fim, com repentino silêncio, em frente a uma alameda. O sino do portão tem um som grave, meio assustador no ar gelado; o portão abre-se em suas dobradiças; e, à medida que nossa carruagem vai subindo até uma enorme casa, as luzes que nos observam vão aumentando de tamanho nas janelas, e as duas fileiras paralelas de árvores, uma de cada lado do caminho, parece que vão recuando solenemente para abrir caminho, para nos dar lugar. A intervalos, o dia todo, uma lebre assustada atravessara na corrida esse gramado agora branco de geada; ou a barulheira distante de um bando de cervos, ao pisotear a cobertura esbranquiçada do solo, também esmagara, por um minuto, o silêncio. Seus olhos vigilantes, por trás da folhagem, podem estar brilhando agora mesmo (se pudéssemos enxergálos), que nem as gotas congeladas de orvalho nas folhas; mas eles estão quietos, e tudo está quieto. E, assim, com as luzes ficando cada vez maiores e as árvores recuando diante de nós e se fechando novamente, como que para evitar uma retirada, chega-se à casa. Provavelmente tem um cheirinho de castanhas assadas e outras coisas boas e confortáveis o tempo todo, pois estamos contando histórias de inverno – histórias de fantasmas, que é para ninguém passar vergonha – ao redor da lareira acesa e decorada para o Natal; e ninguém se mexe, a não ser para aproximar-se da lareira. Mas isso não importa. Chega-se em casa, e é uma casa antiga, cheia de lareiras enormes onde a lenha arde em cima de antiquíssimos trasfogueiros, cheia de retratos sinistros (alguns deles com inscrições também sinistras) que desconfiados se debruçam dos lambris de carvalho das paredes. Somos um homem de meia-idade, um membro da nobreza, e temos uma generosa ceia com os nossos anfitrião e anfitriã e seus convidados – sendo esta a época das festas natalinas e estando a antiga casa repleta de convidados –, depois vamos para a cama. Nosso quarto é um quarto muito antigo. As paredes são forradas de tapeçarias. Não gostamos do retrato sobre a lareira, de um cavaleiro trajado de verde. O teto tem enormes vigas pretas; nos pés da enorme cama preta, especialmente para o nosso conforto, existem duas enormes figuras pretas que parecem ter saído de duas tumbas de dentro da velha igreja baronial que fica no parque. Mas, como não somos um cavalheiro supersticioso, não nos importamos. Muito bem!, dispensamos o nosso criado, trancamos a porta e sentamos diante da lareira já vestidos em nosso camisolão, refletindo sobre uma série de coisas. Por fim, vamos para a cama. Muito bem!, não conseguimos dormir. Ficamos nos revirando na cama e não conseguimos dormir. Os tições na lareira queimam de modo irregular e emprestam uma aparência fantasmagórica ao quarto. Não resistimos a espiar por cima das cobertas para ver as duas figuras pretas e o cavaleiro – o cavaleiro de verde com ares de crueldade. Na luz tremeluzente, eles parecem avançar e recuar, coisa que, apesar de não sermos de modo algum um cavalheiro supersticioso, não é nada agradável. Muito bem!, ficamos nervosos – cada vez mais nervosos. Dizemos: “Isto é uma grande bobagem, mas não dá para aguentar; vamos fingir que estamos doentes e vamos acordar alguém”. Muito bem!, estamos a ponto de fazer isso quando a porta trancada se abre e entra no nosso quarto uma moça, de uma palidez mortal, de cabelo loiro e comprido, que desliza até a lareira e toma assento (na cadeira que havíamos deixado ali), torcendo e retorcendo as mãos. Então, notamos que sua roupa está molhada. Nossa língua gruda no céu da boca e não conseguimos falar, mas nós a observamos atentamente. A roupa está molhada; o cabelo comprido está salpicado de lama ainda úmida; seu traje segue a moda de duzentos anos atrás; e ela traz na cintura um molho de chaves enferrujadas. Muito bem!, lá está ela, sentada, e nós não conseguimos nem mesmo desmaiar, tal é o nosso estado de choque. Dali a pouco ela se levanta e experimenta todas as fechaduras do quarto com as chaves enferrujadas, que não servem em nenhuma delas; então, ela fixa o olhar no retrato do cavaleiro de verde e diz numa voz grave e tenebrosa: – Os bichos sabem, os cervos! Depois disso, ela torce e retorce as mãos de novo, passa ao lado da nossa cama e sai pela porta. Nós nos apressamos em vestir nosso roupão, pegar nossas pistolas (nós sempre viajamos com pistolas), e já estamos no encalço da moça quando encontramos a porta trancada. Giramos a chave na fechadura, olhamos para fora e vemos o corredor escuro; não tem ninguém ali. Vamos adiante e tentamos encontrar o nosso criado. Impossível. Ficamos andando no corredor, de uma ponta a outra, para lá e para cá, até o amanhecer. Então voltamos para o nosso quarto deserto, pegamos no sono e somos acordados por nosso criado (nada jamais assusta esse sujeito) e pela luminosidade de um dia ensolarado. Muito bem!, arruinamos o café da manhã para todos, e todos os convidados dizem que estamos com um ar estranho. Após o desjejum, examinamos a casa com nosso anfitrião, e então nós o levamos até o retrato do cavaleiro de verde, e desse modo tudo vem à tona. Ele fora desleal para com uma jovem governanta que trabalhara naquela casa, que fora estimada pela família dos patrões, uma moça famosa por sua beleza, que se afogara num lago pequeno e fundo, e cujo corpo fora descoberto depois de muito tempo, isso porque os cervos recusavam-se a beber daquela água. Desde então, conta se em sussurros que ela anda pela casa toda à meia-noite (mas vai especialmente àquele quarto, onde o cavaleiro de verde costumava dormir), experimentando as velhas fechaduras com as chaves enferrujadas. Muito bem!, contamos ao nosso anfitrião o que vimos, e o seu rosto se anuvia. Ele nos pede que isso fique só entre nós; e assim acontece. Mas é tudo verdade; e nós assim o dissemos antes de morrer (estamos mortos agora) para muitas pessoas de nossa confiança. São incontáveis as casas antigas, com seus corredores ressoantes, sinistros quartos de dormir e alas assombradas fechadas a chave por muitos anos; podemos passear por esses espaços com um agradável calafrio na espinha e encontrar um bom número de fantasmas, mas (e isso talvez seja digno de nota) pode-se reduzir esse número a pouquíssimos tipos e categorias; isso porque fantasmas são pouco originais e “andam” numa trilha batida. Assim é em um certo quarto, num certo casarão antigo, onde suicidou-se com arma de fogo um certo lorde ou baronete ou cavaleiro ou membro da nobreza (todos muito malvados), apresenta no assoalho certas tábuas de onde o sangue simplesmente não sai. Você pode raspar e raspar, como fez o atual dono da casa, ou lixar e lixar, como fez o pai dele, ou esfregar e esfregar com escovão, como fez o avô dele, ou clarear e clarear com ácidos poderosos, como fez o bisavô dele, e ainda assim o sangue continua ali – nem mais escuro, nem mais claro –, nem mais, nem menos –, sempre exatamente a mesma coisa. Assim é que, numa outra casa desse tipo, tem uma porta mal-assombrada que nunca fica aberta; ou uma outra porta que nunca fica fechada; ou o som fantasmagórico de uma roca de fiar, ou a batida de um martelo, ou passos, ou um grito, ou um suspiro, ou o galope de um cavalo, ou uma corrente sendo arrastada. Ou então tem o relógio de uma torre que à meia-noite bate a 13a hora avisando que o chefe da família está por morrer; ou então é uma carruagem preta, imóvel, espectral, que nesta hora sempre é avistada por alguém, estacionada, à espera, perto dos enormes portões do pátio da estrebaria. Ou então é algo como o que aconteceu com lady Mary quando foi passar uns tempos em visita a uma grande casa em região erma das Highlands da Escócia: cansada por causa da longa viagem, retirou-se cedo para o quarto de dormir e, na manhã seguinte, durante o desjejum, comentou com a maior ingenuidade: – Que estranho, fazer uma festa tão tarde ontem à noite aqui neste lugar tão longe de tudo e não terem me avisado antes de eu ir para a cama! Então, todos perguntaram a lady Mary do que ela estava falando, ao que lady Mary respondeu: – Ora, a noite toda, as carruagens ficaram andando em círculo no pátio, bem debaixo da minha janela! Então, o dono da casa empalideceu, e empalideceu também a sua esposa, e Charles Macdoodle, dos Macdoodle, fez um sinal para lady Mary para que ela não dissesse mais nada, e todos ficaram em silêncio. Depois do café da manhã, Charles Macdoodle contou a lady Mary que era uma tradição na família acreditar que aquelas carruagens barulhentas no pátio prenunciavam a morte. E isso ficou provado, porque, dois meses depois, a esposa do dono daquela mansão morreu. E lady Mary, que era dama de companhia na corte, seguidamente contava essa história à velha rainha Charlotte; e, por sua vez, o velho rei sempre retrucava: – O quê? Fantasmas? Fantasmas? Não existem fantasmas! Não mesmo. E ficava repetindo isso até retirar-se para dormir. Ou então tem a história do amigo de um certo alguém que a maioria de nós conhece. Quando era um rapazote ainda na universidade, tinha um certo amigo com quem ele fez um pacto: se fosse possível ao espírito voltar a este mundo depois de separado do corpo, aquele que morresse primeiro teria de aparecer para o outro. Com o decorrer do tempo, o nosso amigo esqueceu desse pacto; os dois rapazes progrediram na vida, tomaram rumos diferentes e moravam bastante longe um do outro. Mas, uma noite, muitos anos mais tarde, estando o nosso amigo no Norte da Inglaterra, pernoitou numa estalagem da região pantanosa de Yorkshire; depois de acomodado em sua cama, viu que ali, ao luar, encostado numa escrivaninha próxima à janela, olhando fixo para ele, estava o seu velho amigo dos tempos de faculdade! A aparição, depois de receber uma saudação formal, respondeu, numa espécie de sussurro, mas perfeitamente audível: – Não se aproxime. Eu estou morto. Estou aqui para cumprir com a minha promessa. Venho de um outro mundo, mas não posso revelar os segredos de lá! Então a forma foi ficando cada vez mais pálida, pareceu estar dissolvendo-se ao luar, e desapareceu. Ou tem também a história da filha do primeiro ocupante daquela pitoresca casa elisabetana, tão famosa em nossa vizinhança. Já ouviram falar da moça? Não? Ora, foi aquela que saiu num fim de tarde de verão, na hora do lusco-fusco, uma linda moça, dezessete aninhos, para colher flores no jardim; dali a pouco entrou em casa correndo, apavorada, procurando pelo pai, e disse a ele: – Ah, paizinho querido, eu me encontrei comigo mesma. Ele abraçou a filha e disse a ela que aquilo era a sua imaginação, mas ela disse: – Ah, não! Eu me encontrei comigo mesma no caminho entre os canteiros, e eu estava pálida e colhia flores murchas e virei a cabeça e estendi a mão que segurava as flores! E naquela noite ela morreu; e começaram a pintar um quadro dessa história, mas nunca terminaram a pintura, e dizem que está pendurada em algum lugar da casa até hoje, virada para a parede. Ou então também tem a história do tio da esposa do meu irmão, que estava voltando para casa a cavalo num suave entardecer quando, numa alameda verdejante, perto de sua própria casa, ele viu um homem parado à sua frente, bem no meio daquele caminho estreito. “Por que esse homem de capote está aí?” pensou ele. “Será que ele quer ser atropelado?” Mas a figura não se mexeu. Ele teve uma sensação esquisita ao ver aquela figura tão parada, mas diminuiu o galope e avançou devagar. Quando chegou tão perto da figura a ponto de quase tocá-la com o estribo, seu cavalo deu para trás, e a figura subiu para a beirada da alameda deslizando, de um modo curioso, etéreo – para trás, e aparentemente sem usar os pés –, e sumiu. O tio da esposa do meu irmão, exclamando: “Santo Deus! É o meu primo Harry, de Bombaim”, tratou de esporear o cavalo, que de súbito estava suando profusamente; desconfiado desse comportamento estranho, o cavaleiro apressou-se em dar a volta à casa a fim de chegar direto pela porta da frente. Ali, ele viu a mesma figura, agora entrando pela grande porta envidraçada da sala de visitas, que dava para o jardim. Ele atirou as rédeas para um criado e entrou correndo atrás da figura. Sua irmã estava ali na sala, sentada, sozinha. – Alice, onde está o meu primo Harry? – O seu primo Harry, John? – Sim, de Bombaim. Encontrei com ele agora mesmo na alameda e vi ele entrando aqui neste instante. Nenhuma criatura fora vista por ninguém; e, naquela exata hora e naquele exato minuto, como mais tarde se ficou sabendo, aquele primo morreu, na Índia. Ou então também tem a história de uma certa senhorita, velhinha muito sensata que morreu solteirona aos 99 anos, tendo se conservado lúcida até o fim, e ela de fato viu o menino órfão; isso já foi contado de modo incorreto muitas vezes, mas a verdade mesmo é o que vou lhes contar – porque, de fato, esta é uma história da nossa família – e a senhorita em questão era aparentada com a nossa família. Quando estava com quarenta anos mais ou menos, e ainda uma mulher de beleza incomum (seu amado morrera jovem, e por isso ela nunca se casou, apesar de seus muitos pretendentes), ela foi morar numa casa em Kent, que o irmão, um mercador indiano, recém comprara. Contava-se que essa propriedade uma vez fora ocupada em usufruto pelo guardião legal de um menino que era o próximo herdeiro do local; pois o guardião matou o menino de modo violento e cruel. Ela não sabia absolutamente nada dessa história. Ouve-se dizer que havia uma jaula no quarto dela, na qual o guardião costumava prender o menino. Não havia tal coisa. Havia apenas um closet. Ela se deitou para dormir, não fez nenhum alarde à noite e, de manhã, com toda a calma, disse à sua criada, quando esta entrou no quarto: – Quem é a criança bonitinha, de carinha triste, que ficou a noite inteira me espiando dali do closet? A resposta da criada foi um grito bem alto e uma debandada instantânea. A senhorita ficou surpresa, mas era uma mulher de notável capacidade mental, então se vestiu, desceu e foi ter um particular com seu irmão.
– Repare, Walter – disse ela –, meu sono foi perturbado a noite toda por um menino bonitinho, de carinha triste, que ficava me espiando o tempo todo de dentro do closet do meu quarto e que eu não consigo abrir. Isso é algum truque. – Receio que não, Charlotte – disse ele –, pois essa é a lenda da casa. É o menino órfão. O que foi que ele fez? – Ele abria a porta do closet com todo o cuidado – disse ela – e espiava para fora. Às vezes, ele saía do closet um ou dois passos para dentro do quarto. Então, eu o chamava, para encorajá-lo, mas daí ele se encolhia e tremia, e voltava todo curvadinho para o closet e fechava a porta. – O closet não tem comunicação, Charlote – disse o irmão –, com nenhuma outra peça da casa, e a porta está lacrada, com pregos a toda volta. Essa era uma verdade inegável, e dois carpinteiros levaram uma manhã inteira para abrir o closet a fim de que fosse examinado. Só depois disso ela se convenceu de que realmente vira o menino órfão. Mas a parte fascinante e também horrível dessa história é que o menino também fora visto por três filhos do irmão dela, um após o outro, e todos os três morreram muito jovens. Quando acontecia de um dos meninos adoecer, ele chegava em casa com febre doze horas antes do óbito e dizia: “Ai, mãe”, e ele tinha brincado debaixo de um certo carvalho, num certo gramado, com uma criança estranha – um menino bonitinho, de carinha triste, que era muito tímido e se comunicava por sinais! Por experiência própria e fatal, os pais dos três vieram a saber que aquele era o menino órfão e que o destino da criança que ele escolhesse para brincar consigo seguia necessariamente o seu curso pré-determinado.
Eu gosto de ir para casa no Natal. Todo mundo vai para casa no Natal, ou pelo menos deveria ir. Devemos poder passar os feriados em casa – quanto maior o feriado, melhor –, sair do enorme internato onde estamos sempre trabalhando em nossas lousas aritméticas, tanto para tirar um descanso, quanto para dar um descanso aos outros. Viaja-se para casa no meio de uma paisagem de inverno; por terrenos com neblina baixa, atravessamos bruma e brejo, bruma e brejo, subimos por compridas colinas, sinuosas e escuras como cavernas no meio de uma vegetação densa que por pouco não obstrui o brilho das estrelas; depois, estamos nos amplos planaltos até que paramos por fim, com repentino silêncio, em frente a uma alameda. O sino do portão tem um som grave, meio assustador no ar gelado; o portão abre-se em suas dobradiças; e, à medida que nossa carruagem vai subindo até uma enorme casa, as luzes que nos observam vão aumentando de tamanho nas janelas, e as duas fileiras paralelas de árvores, uma de cada lado do caminho, parece que vão recuando solenemente para abrir caminho, para nos dar lugar. A intervalos, o dia todo, uma lebre assustada atravessara na corrida esse gramado agora branco de geada; ou a barulheira distante de um bando de cervos, ao pisotear a cobertura esbranquiçada do solo, também esmagara, por um minuto, o silêncio. Seus olhos vigilantes, por trás da folhagem, podem estar brilhando agora mesmo (se pudéssemos enxergálos), que nem as gotas congeladas de orvalho nas folhas; mas eles estão quietos, e tudo está quieto. E, assim, com as luzes ficando cada vez maiores e as árvores recuando diante de nós e se fechando novamente, como que para evitar uma retirada, chega-se à casa. Provavelmente tem um cheirinho de castanhas assadas e outras coisas boas e confortáveis o tempo todo, pois estamos contando histórias de inverno – histórias de fantasmas, que é para ninguém passar vergonha – ao redor da lareira acesa e decorada para o Natal; e ninguém se mexe, a não ser para aproximar-se da lareira. Mas isso não importa. Chega-se em casa, e é uma casa antiga, cheia de lareiras enormes onde a lenha arde em cima de antiquíssimos trasfogueiros, cheia de retratos sinistros (alguns deles com inscrições também sinistras) que desconfiados se debruçam dos lambris de carvalho das paredes. Somos um homem de meia-idade, um membro da nobreza, e temos uma generosa ceia com os nossos anfitrião e anfitriã e seus convidados – sendo esta a época das festas natalinas e estando a antiga casa repleta de convidados –, depois vamos para a cama. Nosso quarto é um quarto muito antigo. As paredes são forradas de tapeçarias. Não gostamos do retrato sobre a lareira, de um cavaleiro trajado de verde. O teto tem enormes vigas pretas; nos pés da enorme cama preta, especialmente para o nosso conforto, existem duas enormes figuras pretas que parecem ter saído de duas tumbas de dentro da velha igreja baronial que fica no parque. Mas, como não somos um cavalheiro supersticioso, não nos importamos. Muito bem!, dispensamos o nosso criado, trancamos a porta e sentamos diante da lareira já vestidos em nosso camisolão, refletindo sobre uma série de coisas. Por fim, vamos para a cama. Muito bem!, não conseguimos dormir. Ficamos nos revirando na cama e não conseguimos dormir. Os tições na lareira queimam de modo irregular e emprestam uma aparência fantasmagórica ao quarto. Não resistimos a espiar por cima das cobertas para ver as duas figuras pretas e o cavaleiro – o cavaleiro de verde com ares de crueldade. Na luz tremeluzente, eles parecem avançar e recuar, coisa que, apesar de não sermos de modo algum um cavalheiro supersticioso, não é nada agradável. Muito bem!, ficamos nervosos – cada vez mais nervosos. Dizemos: “Isto é uma grande bobagem, mas não dá para aguentar; vamos fingir que estamos doentes e vamos acordar alguém”. Muito bem!, estamos a ponto de fazer isso quando a porta trancada se abre e entra no nosso quarto uma moça, de uma palidez mortal, de cabelo loiro e comprido, que desliza até a lareira e toma assento (na cadeira que havíamos deixado ali), torcendo e retorcendo as mãos. Então, notamos que sua roupa está molhada. Nossa língua gruda no céu da boca e não conseguimos falar, mas nós a observamos atentamente. A roupa está molhada; o cabelo comprido está salpicado de lama ainda úmida; seu traje segue a moda de duzentos anos atrás; e ela traz na cintura um molho de chaves enferrujadas. Muito bem!, lá está ela, sentada, e nós não conseguimos nem mesmo desmaiar, tal é o nosso estado de choque. Dali a pouco ela se levanta e experimenta todas as fechaduras do quarto com as chaves enferrujadas, que não servem em nenhuma delas; então, ela fixa o olhar no retrato do cavaleiro de verde e diz numa voz grave e tenebrosa: – Os bichos sabem, os cervos! Depois disso, ela torce e retorce as mãos de novo, passa ao lado da nossa cama e sai pela porta. Nós nos apressamos em vestir nosso roupão, pegar nossas pistolas (nós sempre viajamos com pistolas), e já estamos no encalço da moça quando encontramos a porta trancada. Giramos a chave na fechadura, olhamos para fora e vemos o corredor escuro; não tem ninguém ali. Vamos adiante e tentamos encontrar o nosso criado. Impossível. Ficamos andando no corredor, de uma ponta a outra, para lá e para cá, até o amanhecer. Então voltamos para o nosso quarto deserto, pegamos no sono e somos acordados por nosso criado (nada jamais assusta esse sujeito) e pela luminosidade de um dia ensolarado. Muito bem!, arruinamos o café da manhã para todos, e todos os convidados dizem que estamos com um ar estranho. Após o desjejum, examinamos a casa com nosso anfitrião, e então nós o levamos até o retrato do cavaleiro de verde, e desse modo tudo vem à tona. Ele fora desleal para com uma jovem governanta que trabalhara naquela casa, que fora estimada pela família dos patrões, uma moça famosa por sua beleza, que se afogara num lago pequeno e fundo, e cujo corpo fora descoberto depois de muito tempo, isso porque os cervos recusavam-se a beber daquela água. Desde então, conta se em sussurros que ela anda pela casa toda à meia-noite (mas vai especialmente àquele quarto, onde o cavaleiro de verde costumava dormir), experimentando as velhas fechaduras com as chaves enferrujadas. Muito bem!, contamos ao nosso anfitrião o que vimos, e o seu rosto se anuvia. Ele nos pede que isso fique só entre nós; e assim acontece. Mas é tudo verdade; e nós assim o dissemos antes de morrer (estamos mortos agora) para muitas pessoas de nossa confiança. São incontáveis as casas antigas, com seus corredores ressoantes, sinistros quartos de dormir e alas assombradas fechadas a chave por muitos anos; podemos passear por esses espaços com um agradável calafrio na espinha e encontrar um bom número de fantasmas, mas (e isso talvez seja digno de nota) pode-se reduzir esse número a pouquíssimos tipos e categorias; isso porque fantasmas são pouco originais e “andam” numa trilha batida. Assim é em um certo quarto, num certo casarão antigo, onde suicidou-se com arma de fogo um certo lorde ou baronete ou cavaleiro ou membro da nobreza (todos muito malvados), apresenta no assoalho certas tábuas de onde o sangue simplesmente não sai. Você pode raspar e raspar, como fez o atual dono da casa, ou lixar e lixar, como fez o pai dele, ou esfregar e esfregar com escovão, como fez o avô dele, ou clarear e clarear com ácidos poderosos, como fez o bisavô dele, e ainda assim o sangue continua ali – nem mais escuro, nem mais claro –, nem mais, nem menos –, sempre exatamente a mesma coisa. Assim é que, numa outra casa desse tipo, tem uma porta mal-assombrada que nunca fica aberta; ou uma outra porta que nunca fica fechada; ou o som fantasmagórico de uma roca de fiar, ou a batida de um martelo, ou passos, ou um grito, ou um suspiro, ou o galope de um cavalo, ou uma corrente sendo arrastada. Ou então tem o relógio de uma torre que à meia-noite bate a 13a hora avisando que o chefe da família está por morrer; ou então é uma carruagem preta, imóvel, espectral, que nesta hora sempre é avistada por alguém, estacionada, à espera, perto dos enormes portões do pátio da estrebaria. Ou então é algo como o que aconteceu com lady Mary quando foi passar uns tempos em visita a uma grande casa em região erma das Highlands da Escócia: cansada por causa da longa viagem, retirou-se cedo para o quarto de dormir e, na manhã seguinte, durante o desjejum, comentou com a maior ingenuidade: – Que estranho, fazer uma festa tão tarde ontem à noite aqui neste lugar tão longe de tudo e não terem me avisado antes de eu ir para a cama! Então, todos perguntaram a lady Mary do que ela estava falando, ao que lady Mary respondeu: – Ora, a noite toda, as carruagens ficaram andando em círculo no pátio, bem debaixo da minha janela! Então, o dono da casa empalideceu, e empalideceu também a sua esposa, e Charles Macdoodle, dos Macdoodle, fez um sinal para lady Mary para que ela não dissesse mais nada, e todos ficaram em silêncio. Depois do café da manhã, Charles Macdoodle contou a lady Mary que era uma tradição na família acreditar que aquelas carruagens barulhentas no pátio prenunciavam a morte. E isso ficou provado, porque, dois meses depois, a esposa do dono daquela mansão morreu. E lady Mary, que era dama de companhia na corte, seguidamente contava essa história à velha rainha Charlotte; e, por sua vez, o velho rei sempre retrucava: – O quê? Fantasmas? Fantasmas? Não existem fantasmas! Não mesmo. E ficava repetindo isso até retirar-se para dormir. Ou então tem a história do amigo de um certo alguém que a maioria de nós conhece. Quando era um rapazote ainda na universidade, tinha um certo amigo com quem ele fez um pacto: se fosse possível ao espírito voltar a este mundo depois de separado do corpo, aquele que morresse primeiro teria de aparecer para o outro. Com o decorrer do tempo, o nosso amigo esqueceu desse pacto; os dois rapazes progrediram na vida, tomaram rumos diferentes e moravam bastante longe um do outro. Mas, uma noite, muitos anos mais tarde, estando o nosso amigo no Norte da Inglaterra, pernoitou numa estalagem da região pantanosa de Yorkshire; depois de acomodado em sua cama, viu que ali, ao luar, encostado numa escrivaninha próxima à janela, olhando fixo para ele, estava o seu velho amigo dos tempos de faculdade! A aparição, depois de receber uma saudação formal, respondeu, numa espécie de sussurro, mas perfeitamente audível: – Não se aproxime. Eu estou morto. Estou aqui para cumprir com a minha promessa. Venho de um outro mundo, mas não posso revelar os segredos de lá! Então a forma foi ficando cada vez mais pálida, pareceu estar dissolvendo-se ao luar, e desapareceu. Ou tem também a história da filha do primeiro ocupante daquela pitoresca casa elisabetana, tão famosa em nossa vizinhança. Já ouviram falar da moça? Não? Ora, foi aquela que saiu num fim de tarde de verão, na hora do lusco-fusco, uma linda moça, dezessete aninhos, para colher flores no jardim; dali a pouco entrou em casa correndo, apavorada, procurando pelo pai, e disse a ele: – Ah, paizinho querido, eu me encontrei comigo mesma. Ele abraçou a filha e disse a ela que aquilo era a sua imaginação, mas ela disse: – Ah, não! Eu me encontrei comigo mesma no caminho entre os canteiros, e eu estava pálida e colhia flores murchas e virei a cabeça e estendi a mão que segurava as flores! E naquela noite ela morreu; e começaram a pintar um quadro dessa história, mas nunca terminaram a pintura, e dizem que está pendurada em algum lugar da casa até hoje, virada para a parede. Ou então também tem a história do tio da esposa do meu irmão, que estava voltando para casa a cavalo num suave entardecer quando, numa alameda verdejante, perto de sua própria casa, ele viu um homem parado à sua frente, bem no meio daquele caminho estreito. “Por que esse homem de capote está aí?” pensou ele. “Será que ele quer ser atropelado?” Mas a figura não se mexeu. Ele teve uma sensação esquisita ao ver aquela figura tão parada, mas diminuiu o galope e avançou devagar. Quando chegou tão perto da figura a ponto de quase tocá-la com o estribo, seu cavalo deu para trás, e a figura subiu para a beirada da alameda deslizando, de um modo curioso, etéreo – para trás, e aparentemente sem usar os pés –, e sumiu. O tio da esposa do meu irmão, exclamando: “Santo Deus! É o meu primo Harry, de Bombaim”, tratou de esporear o cavalo, que de súbito estava suando profusamente; desconfiado desse comportamento estranho, o cavaleiro apressou-se em dar a volta à casa a fim de chegar direto pela porta da frente. Ali, ele viu a mesma figura, agora entrando pela grande porta envidraçada da sala de visitas, que dava para o jardim. Ele atirou as rédeas para um criado e entrou correndo atrás da figura. Sua irmã estava ali na sala, sentada, sozinha. – Alice, onde está o meu primo Harry? – O seu primo Harry, John? – Sim, de Bombaim. Encontrei com ele agora mesmo na alameda e vi ele entrando aqui neste instante. Nenhuma criatura fora vista por ninguém; e, naquela exata hora e naquele exato minuto, como mais tarde se ficou sabendo, aquele primo morreu, na Índia. Ou então também tem a história de uma certa senhorita, velhinha muito sensata que morreu solteirona aos 99 anos, tendo se conservado lúcida até o fim, e ela de fato viu o menino órfão; isso já foi contado de modo incorreto muitas vezes, mas a verdade mesmo é o que vou lhes contar – porque, de fato, esta é uma história da nossa família – e a senhorita em questão era aparentada com a nossa família. Quando estava com quarenta anos mais ou menos, e ainda uma mulher de beleza incomum (seu amado morrera jovem, e por isso ela nunca se casou, apesar de seus muitos pretendentes), ela foi morar numa casa em Kent, que o irmão, um mercador indiano, recém comprara. Contava-se que essa propriedade uma vez fora ocupada em usufruto pelo guardião legal de um menino que era o próximo herdeiro do local; pois o guardião matou o menino de modo violento e cruel. Ela não sabia absolutamente nada dessa história. Ouve-se dizer que havia uma jaula no quarto dela, na qual o guardião costumava prender o menino. Não havia tal coisa. Havia apenas um closet. Ela se deitou para dormir, não fez nenhum alarde à noite e, de manhã, com toda a calma, disse à sua criada, quando esta entrou no quarto: – Quem é a criança bonitinha, de carinha triste, que ficou a noite inteira me espiando dali do closet? A resposta da criada foi um grito bem alto e uma debandada instantânea. A senhorita ficou surpresa, mas era uma mulher de notável capacidade mental, então se vestiu, desceu e foi ter um particular com seu irmão.
– Repare, Walter – disse ela –, meu sono foi perturbado a noite toda por um menino bonitinho, de carinha triste, que ficava me espiando o tempo todo de dentro do closet do meu quarto e que eu não consigo abrir. Isso é algum truque. – Receio que não, Charlotte – disse ele –, pois essa é a lenda da casa. É o menino órfão. O que foi que ele fez? – Ele abria a porta do closet com todo o cuidado – disse ela – e espiava para fora. Às vezes, ele saía do closet um ou dois passos para dentro do quarto. Então, eu o chamava, para encorajá-lo, mas daí ele se encolhia e tremia, e voltava todo curvadinho para o closet e fechava a porta. – O closet não tem comunicação, Charlote – disse o irmão –, com nenhuma outra peça da casa, e a porta está lacrada, com pregos a toda volta. Essa era uma verdade inegável, e dois carpinteiros levaram uma manhã inteira para abrir o closet a fim de que fosse examinado. Só depois disso ela se convenceu de que realmente vira o menino órfão. Mas a parte fascinante e também horrível dessa história é que o menino também fora visto por três filhos do irmão dela, um após o outro, e todos os três morreram muito jovens. Quando acontecia de um dos meninos adoecer, ele chegava em casa com febre doze horas antes do óbito e dizia: “Ai, mãe”, e ele tinha brincado debaixo de um certo carvalho, num certo gramado, com uma criança estranha – um menino bonitinho, de carinha triste, que era muito tímido e se comunicava por sinais! Por experiência própria e fatal, os pais dos três vieram a saber que aquele era o menino órfão e que o destino da criança que ele escolhesse para brincar consigo seguia necessariamente o seu curso pré-determinado.
A NOIVA DO ENFORCADO
Era uma genuína casa antiga, de estilo muito estranho: uma profusão de antigos entalhes e vigas e lambris, e uma escada maravilhosa com uma galeria ou escada superior separada por um curioso parapeito de carvalho antigo ou daquele antigo mogno de Honduras. Era, é e será, por muitos anos ainda, uma casa notável e digna de ser retratada em uma pintura; e um certo mistério ameaçador, escondido na profundidade dos lambris de mogno antigo, como se estes fossem fundas poças de água escura – tantas quantas, na verdade, tinham sido quando ainda eram árvores –, emprestava à casa um aspecto muito misterioso depois do anoitecer. Quando o sr. Goodchild7 e o sr. Idle8 apearam à sua porta pela primeira vez e entraram na velha mansão sombria e charmosa, foram recebidos por meia dúzia de homens velhos e silenciosos, todos vestidos com o mesmo traje preto, que deslizaram escada acima juntamente com o obsequioso proprietário e o garçom – mas parecendo não atrapalhar o caminho deles, ou pelo menos não se importando se atrapalhavam ou não – e que se enfileiraram à direita e à esquerda na escadaria antiga, enquanto os hóspedes entravam em sua sala de estar. Naquele momento era dia, e o sol brilhava. O sr. Goodchild disse, assim que a porta foi fechada: – Afinal, quem são esses velhos? – e depois, tanto ao sair como ao entrar, ele notou que não tinha nenhum velho à vista. Eles não apareceram mais, nem juntos nem separados. Os dois amigos passaram a noite na velha casa, mas não viram nem sinal dos velhos. O sr. Goodchild, enquanto passeava pela casa, olhou pelos corredores e olhou para dentro de portas abertas, sem encontrar nenhum dos velhos; e também parecia que nenhum funcionário do estabelecimento estava sentindo falta ou mesmo esperando por eles. Uma outra situação estranha que os impressionou foi o fato de que a porta da sala de estar deles não ter ficado intocada por mais de quinze minutos. A porta era aberta com hesitação, com segurança, só um pouquinho, quase toda, e sempre fechada de novo com firmeza, sem uma única palavra de explicação. Eles podiam estar lendo ou escrevendo, comendo ou bebendo, conversando ou cochilando; a porta abria-se sempre em um momento inesperado e, quando eles olhavam em sua direção, fechava-se com firmeza outra vez e não se via ninguém. Depois que isso aconteceu mais ou menos cinquenta vezes, o sr. Goodchild disse, debochando, ao seu amigo: – Começo a achar, Tom, que tinha alguma coisa de errado com aqueles seis velhos. A noite chegara outra vez, e eles tinham estado escrevendo por duas ou três horas, escrevendo, em resumo, uma parte das anotações ociosas das quais foi tirado este texto ocioso. Eles tinham parado de escrever, e os seus óculos estavam em cima da mesa, e a mesa estava entre os dois. A casa estava fechada e quieta. Em volta da cabeça de Thomas Idle, enquanto ele estava deitado no sofá, pairavam suaves anéis de fumaça perfumada. As têmporas de Francis Goodchild tinham a mesma decoração, enquanto ele se recostava na poltrona com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça e as pernas cruzadas. Eles haviam especulado sobre vários assuntos fúteis, sem omitir os velhos estranhos, e estavam ainda assim ocupados quando o sr. Goodchild bruscamente mudou de posição para dar corda em seu relógio. Eles estavam recém começando a ficar sonolentos o suficiente para ter a conversa interrompida por causa de alguma pequena coisa daquele tipo. Thomas Idle, que estava falando naquele momento, interrompeu-se e disse: – De quantos giros você precisa? – Um – disse Goodchild. E, como se ele tivesse chamado um dos velhos, e tivesse sido prontamente atendido (verdade seja dita que todos os pedidos eram prontamente atendidos naquele excelente hotel), a porta se abriu e um dos velhos estava ali parado. Ele não entrou, mas ficou segurando a porta. – Um dos seis, Tom, finalmente! – disse o sr. Goodchild, num murmúrio surpreso. – Senhor, eu posso ajudá-lo? – disse número um. – Eu não toquei a sineta. – A sineta tocou – disse o velho número um. Ele disse sineta de um jeito tão forte e grave que poderia ter descrito o sino da igreja. – Acredito que tive o prazer de encontrá-lo ontem, correto? – disse Goodchild. – Eu não posso lhe garantir – foi a sinistra resposta do velho número um. – Eu acho que o senhor me viu. Ou não? – Vi o senhor? – disse o velho. – Ah, sim, eu vi o senhor. Mas eu vejo muitos que nunca me veem. Um velho gélido, lento, grosseiro, rígido e cadavérico, com um discurso calculado. Um velho que parecia impossibilitado de piscar, como se suas pálpebras tivessem sido pregadas na testa. Um velho cujos olhos – dois pontos de fogo – quase não se mexiam, como se estivessem conectados com a parte posterior de seu crânio por meio de parafusos que lhe atravessavam a cabeça e recebiam arruelas e porcas bem apertadas acima da nuca, em meio ao seu cabelo grisalho. A noite tinha se tornado tão fria para os sentidos do sr. Goodchild que ele sentiu calafrios e então comentou suavemente, meio que se justificando: – Acho que alguém está caminhando sobre o meu túmulo. – Não – disse o velho esquisito –, não tem ninguém lá. O sr. Goodchild olhou para Idle, mas este estava deitado com a cabeça envolta em fumaça.
– Não tem ninguém lá? – disse Goodchild. – Não tem ninguém no seu túmulo, isso eu lhe garanto – disse o velho.
Ele tinha entrado e fechado a porta, e agora estava se sentando. Ele não se curvou para sentar como as outras pessoas fazem, mas pareceu afundar completamente ereto, como se estivesse afundando na água, até que a cadeira o fez parar de afundar. – Meu amigo, sr. Idle – disse Goodchild, extremamente ansioso para introduzir uma terceira pessoa na conversa. – Eu estou – disse o velho sem olhá-lo – a serviço do sr. Idle. – Se você é um antigo morador deste lugar – Francis Goodchild prosseguiu… – Sim. – Talvez você possa esclarecer um ponto sobre o qual meu amigo e eu estávamos em dúvida esta manhã. Criminosos condenados à forca são executados no castelo, correto? – Eu acredito que sim – disse o velho. – Os rostos deles ficam virados para aquela esplêndida vista? – O seu rosto fica virado – respondeu o homem – para a parede do castelo. Quando você está amarrado, você enxerga as pedras da parede do castelo se expandirem e contraírem violentamente, e parece que uma expansão e contração igual ocorre dentro da sua própria cabeça e no seu peito. Então, vem uma explosão, um fogo, e sobrevém um terremoto e o castelo dá um salto no ar e você cai num precipício. A gravata parecia incomodá-lo. Ele pôs a mão na garganta e moveu o pescoço para um lado e para o outro. Ele era um velho de cara inchada, e seu nariz era levantado de um lado, como se um pequeno gancho estivesse sempre puxando aquela narina para cima. O sr. Goodchild sentiu-se excessivamente desconfortável e começou a achar que a noite estava quente, e não fria. – Uma descrição bem forte – observou ele. – Uma sensação bem forte – respondeu o velho. Outra vez, o sr. Goodchild olhou para o sr. Thomas Idle, mas este estava deitado, de costas, o rosto atento voltado para o velho número um e sem dar sinal de vida. Nesse momento, o sr. Goodchild acreditou ter visto filetes de fogo estendendo-se dos olhos do velho até os seus próprios olhos, unindo-os. (O sr. Goodchild é quem escreve o presente relato de sua experiência e, com toda a solenidade, declara que, a partir daquele instante, teve uma forte sensação de estar sendo obrigado a encarar o velho, seu olhar preso por aquelas duas membranas incandescentes.) – Eu preciso lhe contar – disse o velho, com um olhar fixo, duro e horripilante. – O quê? – perguntou Francis Goodchild. – O senhor sabe onde aconteceu. Lá! Se ele apontou para a sala de cima, ou para a sala de baixo, ou para qualquer sala daquela casa velha, ou para uma sala de alguma outra casa velha daquela velha cidade, o sr. Goodchild não tinha, não tem e nunca poderá ter certeza. Ele ficou confuso por ver que o dedo indicador direito do velho número um parecia mergulhar em um dos filetes de fogo, acender-se como um fósforo e criar um rastro incandescente no ar enquanto apontava em uma direção. Depois, o dedo se apagava. – O senhor sabe que ela era uma noiva – disse o velho. – Eu sei que ainda servem bolo de noiva – gaguejou o sr. Goodchild. – O ar está opressivo. Ela era uma noiva, disse o velho. Era linda, o cabelo muito claro, cor de palha, e olhos grandes, mas sem personalidade e sem ambição. Uma moça fraca, crédula, incapaz, indefesa, em suma: um nada. Não era como a sua mãe. Isto ela não era mesmo, tinha herdado a personalidade do pai. A mãe preocupou-se em assegurar tudo para si, para sua própria vida, quando o pai da moça (uma criança na época) morreu – de pura incapacidade – nenhum outro problema; ele então retomou o relacionamento que tinha mantido no passado com a mãe. Ele fora desprezado quando apareceu o homem de cabelo muito claro, cor de palha, e olhos grandes (um ninguém) com dinheiro. Para fazer vista grossa à situação, ele queria uma compensação em dinheiro. Por isso, ele voltou para junto daquela mulher, a mãe, fez amor com ela outra vez, deu-lhe atenção e submeteu-se a todos os seus caprichos. Ela exigia que ele satisfizesse cada um deles, os reais e os inventados. Ele aguentou tudo. E, quanto mais aguentava, mais compensação em dinheiro queria e mais decidido ficava a cobrá-la. Mas, vejam só! Antes que ele conseguisse o dinheiro, ela o enganou. Durante um dos seus ataques de fúria, ela congelou para nunca mais. Uma noite, ela levou as mãos à cabeça, deu um grito, seu corpo enrijeceu, ela ficou nessa posição por algumas horas e depois morreu. E ele ainda não tinha arrancado dela sua compensação em dinheiro. Maldita seja! Nem um centavo. Ele a odiara durante todo o tempo do segundo relacionamento dos dois, e desejara e esperara pela vingança. Então, ele forjou a assinatura dela em um documento pelo qual ela deixava tudo o que tinha para a filha – dez anos de idade à época –, para quem a propriedade era transferida em caráter definitivo, e o nomeava o guardião legal da menina. Quando ele enfiou o documento debaixo do travesseiro dela, curvou-se e sussurrou na orelha surda da morte: – Madame Metida, faz muito tempo eu decidi que, viva ou morta, você tem a obrigação de me dar uma compensação em dinheiro. Então, naquele momento, só restavam dois, ele e a menina bonita de cabelo muito claro, cor de palha, olhos grandes, porém muito boba; a filha dela que depois veio a ser a noiva. Ele a colocou numa escola, uma casa escondida, escura, opressiva e antiquíssima, sob os cuidados de uma mulher atenta e inescrupulosa. – Minha mui digna senhora – disse ele –, aqui está uma mente a ser formada; a senhora poderia me ajudar a formá-la?
Ela aceitou a tutela da menina. Para a qual ela também quis uma compensação em dinheiro e obteve. A garota foi criada para ter medo dele, na convicção de que não poderia escapar dele. Ela foi preparada desde o início a enxergá-lo como seu futuro marido – o homem que teria de se casar com ela – o destino que a ofuscava – a certeza predeterminada para a qual não havia escapatória. A pobre tola menina era cera macia e branca nas mãos deles e aceitou a marca que imprimiram nela. Com o tempo, endureceu. Tornou-se uma parte inseparável dela e só poderia ser arrancada junto com a sua própria vida. Onze anos ela vivera na casa escura com seu jardim sombrio. Ele tinha ciúme até mesmo da luz e do ar que a envolviam, e eles a mantinham sempre por perto. Ele lacrou as amplas lareiras, escureceu as pequenas janelas, deixou a hera de grossos caules alastrar-se por onde bem entendesse, cobrindo a fachada da casa; deixou o musgo acumular-se nas árvores frutíferas nunca podadas do jardim com muro vermelho e deixou as ervas daninhas tomarem conta dos passeios de pedras verdes e amarelas. Ele a cercou com imagens de tristeza e desolação, e fez o possível para que ela ficasse com medo do lugar e das histórias que se contavam a respeito do lugar, e tudo com o pretexto de assim remediar esses medos: o medo de ficar sozinha, ou de encolher de tamanho na escuridão da casa. Quando a menina ficava deprimida ao máximo e sufocada de pavores, ele aparecia, saído de um dos esconderijos de onde ele a observava, e se apresentava como sendo seu único apoio. Desse modo, sendo ele, desde a infância dela, a única personificação que a vida apresentou àquela menina do poder de coagir e do poder de aliviar, do poder de amarrar e do poder de libertar, a ascendência dele sobre a fragilidade dela estava garantida. Ela contava 21 anos e 21 dias de idade quando ele a levou para casa, a casa sombria – uma noiva havia apenas três semanas: tola, assustada e submissa. Ele então já havia despedido a governanta – o que lhe faltava fazer, ele faria melhor sozinho –, e eles voltaram em uma noite chuvosa para o cenário da longa preparação dela. Ela se virou para ele na soleira da porta, enquanto a chuva pingava do telhado da varanda, e disse: – Ah, senhor, é o tique-taque do relógio da Morte pulsando para mim! – Bem! – ele respondeu. – E se fosse? – Ah, senhor! – ela se virou outra vez para ele. – Olhe com bondade para mim e tenha piedade! Eu imploro o seu perdão. Eu faço qualquer coisa que o senhor quiser, se ao menos o senhor me perdoar! Esta se tornou a ladainha constante da pobre imbecil: “Eu imploro o seu perdão” e “Me perdoe!” Não valia a pena odiá-la; ele não sentia nada além de desprezo por ela. Mas ela estivera no caminho dele por muito tempo, e ele estava farto havia muito tempo; e o serviço estava próximo do fim e precisava ser resolvido. – Sua idiota – disse ele. – Vá lá para cima! Ela obedeceu bem depressa, murmurando:
– Eu faço qualquer coisa que o senhor quiser! Quando ele entrou no quarto da noiva, tendo se atrasado um pouco fechando os pesados ferrolhos da porta principal (já que eles estavam sós na casa, pois ele tinha tudo organizado de modo que os empregados fossem diaristas), ele a encontrou encolhida no canto mais afastado do quarto, encostada nos lambris da parede como se quisesse esconder-se dentro deles: o cabelo muito claro, cor de palha, desgrenhado sobre o rosto e os olhos grandes fixos nele estampando um vago terror. – Do que você está com medo? Venha e sente-se aqui perto de mim. – Eu farei tudo que o senhor quiser. Eu imploro o seu perdão, senhor! Me perdoe! – sua ladainha monótona de sempre. – Ellen, aqui está um texto que você precisa copiar a mão, amanhã. O melhor é que você seja vista por outros enquanto estiver ocupada nessa escrita. Quando você terminar de copiar bem certinho, com todos os erros corrigidos, você chama dois dos empregados, não importa quem, e, na frente desses dois, você coloca a sua assinatura no papel. Depois, guarde o documento no decote para que fique seguro e, quando eu sentar aqui outra vez amanhã à noite, você me entrega o papel. – Vou fazer tudo com o maior cuidado. Farei tudo que o senhor quiser. – Então pare de se sacudir e tremer. – Vou tentar de todas as maneiras não tremer… se ao menos o senhor me perdoasse! No outro dia, ela se sentou à escrivaninha e agiu como tinha sido instruída. Ele entrou e saiu da sala várias vezes, observando-a, sempre percebendo que ela estava escrevendo devagar e com bastante empenho, repetindo para si mesma as palavras que copiava, aparentemente de modo mecânico, sem se preocupar ou se esforçar para entendê-las, de modo que ela completou a tarefa. Ele a viu seguir, em todos os detalhes, as instruções recebidas e, à noite, quando ficaram sozinhos outra vez no quarto da noiva, ele puxou a cadeira onde estava sentado para junto da lareira, ela timidamente se levantou de sua cadeira afastada e se aproximou dele, tirou o papel do decote e o entregou na mão dele. O documento assegurava que, em caso de morte, todos os bens dela passariam para ele. Ele a colocou à sua frente, cara a cara, para que pudesse olhá-la firme, e perguntou a ela, diretamente, com todas as palavras, nem a mais nem a menos, se ela havia entendido. Havia manchas de tinta no peitilho do seu vestido branco, e as manchas faziam o seu rosto parecer ainda mais branco e os seus olhos ainda maiores quando ela fez que sim com um gesto de cabeça. Havia manchas de tinta na mão com a qual ela, nervosa diante dele, amarrotava e vincava suas saias brancas. Ele a tomou pelo braço e olhou para ela, desta vez um olhar ainda mais atento e mais firme. – Agora, morra! Meu assunto com você está encerrado. Ela se encolheu e soltou um grito baixinho, sufocado.
– Eu não vou matar você. Não vou pôr em risco a minha vida pela sua. Morra! Ele se sentava diante dela em seu quarto de noiva triste, dia após dia, noite após noite, personificando aquela palavra diante da moça mesmo quando não a pronunciava. Toda vez que ela erguia os olhos inexpressivos das mãos, entre as quais movimentava a cabeça para encarar a figura inflexível, sentada, de braços cruzados, podia ler na testa franzida dele: “Morra!”. Quando ela caía no sono por exaustão, era chamada de volta à consciência horrorizada pelo sussurro: “Morra!”. Quando ela suplicava por perdão, a resposta era: “Morra!”. Quando a longa noite de observação e sofrimento chegava ao fim e o brilho do sol nascente entrava no quarto sombrio, ela ouvia a saudação: – Outro dia e você não morreu? Morra! Trancado na mansão deserta, distante da espécie humana, empenhado sozinho naquela guerra sem trégua, a questão era que um ou outro teria de morrer: ou ele ou ela. Sabendo disso muito bem, ele concentrou sua força contra a fragilidade dela. Durante horas e horas ele a segurava pelo braço até que este ficasse roxo e ordenava: “Morra!” Aconteceu em uma manhã de muito vento, antes de o sol nascer. Ele registrou o horário como sendo quatro e meia, porém o seu relógio fora esquecido e estava parado, ele não podia ter certeza. Ela escapara dele durante a noite, com gritos altos e repentinos – os primeiros desse tipo que ela havia berrado; ele fora obrigado a tapar-lhe a boca com a mão. A partir daquele momento, ela ficou quieta e, no canto junto aos painéis da parede onde se refugiara, desabou; ele a deixou lá e voltou de braços cruzados e testa franzida para a cadeira. Parecendo mais pálida sob a luz difusa, mais macilenta do que nunca, no deprimente amanhecer ele a viu aproximar-se, arrastando-se pelo chão até ele – um navio naufragado, branco, de cabelo, vestido e olhos selvagens; impulsionado por remos que eram mãos vacilantes. – Perdoe-me! Eu faço qualquer coisa! Por favor, diga que eu posso viver! – Morra! – O senhor está decidido? Não existe nenhuma esperança para mim? – Morra! Os grandes olhos dela apertaram-se primeiro com olhar de espanto e medo, depois de acusação, e finalmente o inexpressivo, o nada. Aconteceu. No primeiro instante, ele não estava muito certo de que realmente acontecera, mas o sol da manhã fez surgirem joias nos cabelos dela – ele viu diamantes, esmeraldas e rubis brilhando entre as pequenas pontas enquanto olhava para ela, ali deitada no chão – quando ele a ergueu e colocou-a na cama. Foi logo enterrada. Agora todos tinham partido, e ele compensara a si mesmo de modo satisfatório. Tinha vontade de viajar. Não que quisesse desperdiçar seu dinheiro, pois era um homem econômico e gostava imensamente de seu dinheiro (e de mais nada, com certeza), mas estava cansado daquela casa isolada e desejava virar-lhe as costas e encerrar o assunto. Porém, a casa tinha valor comercial, e não se joga dinheiro fora. Decidiu vendê-la antes de viajar. Fez com que a casa tivesse um aspecto bem menos deplorável e assim aumentasse seu valor de venda; contratou trabalhadores para limpar o jardim abandonado; cortar os galhos secos, podar a hera que pendia em chumaços pesados sobre as janelas e a cumeeira da casa, limpar os caminhos onde as ervas daninhas tinham crescido até a altura do joelho. Trabalhou junto com eles. E continuava trabalhando até mais tarde, depois que os homens iam embora. Numa tarde de outono, no horário do crepúsculo, depois que a noiva já estava morta havia cinco semanas e ele trabalhava sozinho com sua foice, pensou: “Está ficando muito escuro para continuar, preciso encerrar por hoje”. Ele detestava a casa e estava relutante em entrar. Olhou para o pórtico escuro, esperando por ele como uma tumba, e sentiu que aquela era uma casa amaldiçoada. Perto do pórtico, e perto de onde ele estava, existia uma árvore cujos galhos acenavam em frente à antiga bay window9 do quarto da noiva, onde tudo fora feito. De repente, a árvore balançou e ele estremeceu. Ela balançou outra vez, apesar de a noite estar parada. Olhando para cima, ele enxergou um vulto entre os galhos. Era a silhueta de um homem jovem. O rosto olhou para baixo no momento que ele olhou para cima; os galhos estalaram e oscilaram; o vulto desceu rapidamente e colocou-se de pé diante dele. Um jovem magro, mais ou menos da idade dela, de cabelo comprido, castanho claro. – Mas quem é este ladrão? – disse ele, agarrando o jovem pelo colarinho. O rapaz, ao livrar-se com um safanão, golpeou com o braço o rosto e a garganta do outro. Eles se aproximaram uma vez mais para brigar, mas então o jovem afastou-se, deu um passo para trás, gritando em desespero e pavor: – Não me toque! Eu de bom grado prefiro ser tocado pelo Diabo! Ele ficou parado com a foice na mão, olhando para o jovem, cujo olhar era a duplicata do último olhar dela, e ele jamais esperara ver aquilo de novo. – Eu não sou ladrão. E se eu fosse, não ia querer nem uma moeda da sua fortuna, mesmo que com ela pudesse comprar as Índias, seu assassino! – O quê? – Eu subi – disse o jovem apontando para a árvore – pela primeira vez, uma noite, há quatro anos. Eu subi para olhar para ela. Eu a vi. Eu falei com ela. Eu subi muitas vezes para olhá-la e ouvi-la. Eu era um garoto escondido entre as folhas quando, pela bay window, ela me deu isto! Ele mostrou uma mecha de cabelo muito claro, cor de palha, amarrada com uma fita originalmente usada na roupa em sinal de luto. – A vida dela – disse o jovem – era uma vida de luto. Ela me deu isto como uma lembrança e um sinal de que estava morta para tudo e para todos, menos para você. Se eu fosse mais velho, se eu a tivesse conhecido antes, talvez pudesse tê-la salvado de você. Mas ela já estava presa na sua teia quando eu subi na árvore pela primeira vez; e, naquela época, o que eu podia ter feito para cortar a sua teia? Dizendo essas palavras, ele teve um acesso de choro e de gritos, fraco no início, depois violento: – Assassino! Eu subi na árvore na noite em que você a trouxe de volta. De cima da árvore, eu a ouvi falar sobre a sentinela da Morte à porta de seu quarto. Eu estive três vezes trepado na árvore enquanto você ficava trancado ali com ela, matando-a aos poucos. Eu a vi, de cima da árvore, deitada, morta, na cama. Da árvore, tenho observado você, sempre em busca de alguma prova, algum sinal de culpa. O modo como foi feito ainda é um mistério para mim, mas vou persegui-lo até você entregar a sua vida ao carrasco, na forca. Até esse dia, você não vai se ver livre de mim. Eu a amava! Não conheço nenhum atenuante para você. Assassino, eu a amava! O jovem estava com a cabeça descoberta, tendo o seu chapéu caído enquanto ele descia da árvore. Ele andou em direção ao portão. Precisava passar pelo outro para alcançar o portão. Existia largura suficiente para que duas carruagens antigas puxadas por dois cavalos cada uma passassem lado a lado, e a aversão que o jovem sentia, expressa em cada traço do seu rosto e em todos os membros do seu corpo, coisa difícil de suportar, tinha o alcance suficiente para manter-se à distância. Ele (estou me referindo ao outro) não tinha mexido nem mão nem pé desde que havia parado para olhar o rapaz. Agora, girava a cabeça para segui-lo com o olhar. Assim que viu a parte de trás da cabeça de cabelos castanhos claros, viu também uma curva vermelha saindo de sua mão e chegando ali. Ele sabia, antes mesmo de atirar a foice, onde ela havia acertado – isto mesmo: havia acertado, e não iria acertar –, pois ele teve a percepção nítida de a coisa estar feita antes que ele a fizesse. A foice rachou a cabeça do rapaz e ali permaneceu, e o rapaz caiu de borco. Ele enterrou o corpo durante a noite, ao pé da árvore. Assim que amanheceu, ele começou a trabalhar, revirando todo o solo ao redor da árvore e cortando e arrancando os arbustos vizinhos e a vegetação rasteira. Quando os trabalhadores chegaram, não havia nada suspeito, nem algo a suspeitar. Mas ele havia, em um instante, anulado todas as precauções tomadas e destruído o triunfo do plano que orquestrara por tanto tempo e que executara com tanto sucesso. Ele havia se livrado da noiva e ficara com a fortuna dela sem colocar em risco a própria vida, mas agora, por uma morte com a qual ele não ganhava nada, teria de viver eternamente com a corda no pescoço. Além disso, ele estava acorrentado à casa, sombria e horripilante, um lugar para ele insuportável. Com medo de vendê-la ou de abandoná-la, temendo que algo viesse a ser descoberto, viu-se forçado a morar ali. Contratou dois criados – um casal de velhinhos; e temia a casa que habitava. Sua maior dificuldade por muito tempo foi o jardim. Devia mantê-lo arrumado ou devia deixar que voltasse ao estado anterior de abandono: qual seria a forma que atrairia menos atenção sobre o jardim? Escolheu como melhor caminho fazer ele mesmo o serviço de jardineiro, como uma distração ao entardecer, e tratou de chamar o seu criado para ajudá-lo, e nunca deixava o velhinho trabalhar no jardim sem que ele estivesse junto. Construiu um caramanchão de frente para a árvore, onde ele poderia sentar-se e verificar que tudo estivesse certo. À medida que mudavam as estações e a árvore mudava, sua mente percebia perigos que estavam sempre mudando. Na época em que a árvore ficou repleta de folhas, ele notou que os ramos de cima cresciam com o formato do jovem – as folhas formavam a silhueta exata do rapaz, sentado em um galho bifurcado que balançava ao vento. Na época de caírem as folhas, ele percebeu que elas caíam da árvore formando letras reveladoras no chão, e mesmo que elas tinham tendência a se empilharem como um montículo de cemitério de pátio de igreja bem em cima de onde o rapaz estava enterrado. No inverno, quando as árvores ficam desfolhadas, percebeu que os galhos gesticulavam como o fantasma daquela pancada que o jovem lhe dera com o braço, e esses galhos eram para ele uma ameaça escancarada. Na primavera, quando a seiva subia pelo tronco, ele se perguntava: será que as partículas de sangue seco também estariam subindo junto, para produzir, de modo mais óbvio neste ano do que no ano passado, a forma folhosa do rapaz que balançava ao vento? Entretanto, ele investiu e reinvestiu o seu dinheiro e voltou a investilo. Atuou no mercado negro, no comércio de ouro em pó e na maioria dos negócios escusos que resultassem em grandes rendimentos. Em dez anos, ele investira e reinvestira o seu dinheiro tantas vezes que os expedidores de mercadorias e os comerciantes que faziam transações com ele não estavam mentindo nem exagerando – desta vez – quando declararam que ele aumentara sua fortuna em mil e duzentos por cento. Ele tomara posse de sua fortuna cem anos antes, quando as pessoas se perdiam com facilidade. Ele soube quem era o jovem ao ouvir falar da busca que tinha sido feita para encontrá-lo, mas a busca foi se dissipando, e o jovem foi esquecido. O ciclo anual de mudanças na árvore repetira-se dez vezes desde a noite do enterro ao pé da árvore, e então caiu uma tempestade com trovoadas fortes sobre o lugar. Começou à meia-noite e prosseguiu violenta até clarear o dia. A primeira informação que ele recebeu do velhinho seu criado naquela manhã foi que a árvore tinha sido atingida por um raio. Rachado ao meio de modo bastante surpreendente, o tronco caiu dividido em dois, duas partes chamuscadas: uma caiu de encontro à casa, e a outra, de encontro a uma parte do velho muro vermelho do jardim, onde abriu uma fenda. O raio cortara a árvore na longitudinal, mas a fissura terminava antes de chegar ao solo. Houve grande curiosidade de todos em ver a árvore, e, com a maioria de seus antigos medos reavivados, ele se sentou em seu caramanchão – um homem já bastante envelhecido – observando as pessoas que chegavam para olhá-la.
Elas rapidamente começaram a chegar em números tão assustadores que ele fechou o portão do jardim e não admitiu a entrada de mais ninguém. Mas houve certos homens das ciências que vieram de muito longe, viajaram para examinar a árvore, e ele, em má hora, os deixou entrar: – Que a peste os leve embora! Malditos sejam! Pois que entrem! Eles queriam desenterrar a ruína pela raiz para examiná-la em detalhe, bem como a terra em volta. Nunca, jamais enquanto ele vivesse! Eles lhe ofereceram dinheiro. Eles! Homens das ciências, gente que ele podia comprar às dúzias com um golpe de caneta! Apresentou a eles uma vez mais o portão do jardim e depois passou a chave e colocou a tranca no portão. Mas eles estavam determinados a fazer o que pretendiam e subornaram o velho criado – um desgraçado mal-agradecido que sempre reclamava do pouco quando era dia de pagamento – e entraram às escondidas no jardim, à noite, com lanternas, picaretas e pás e atacaram a árvore. Ele estava deitado em um quarto na pequena torre do outro lado da casa (o quarto da noiva estava sempre desocupado desde o acontecido), mas logo começou a sonhar com picaretas e pás e levantou-se. Foi até uma janela do andar superior daquele lado da casa, de onde pôde ver as lanternas e os homens e a terra solta de um monte que ele mesmo tinha remexido e colocado de volta em seu lugar da última vez que ela tinha sido revirada para arejar. Tinham encontrado o corpo! Naquele exato minuto haviam se deparado com ele. Estavam todos debruçados sobre ele. Um deles disse: – O crânio está fraturado. E um outro disse: – Vejam aqui os ossos. E um outro: – Vejam aqui as roupas. E então o primeiro interrompeu-os outra vez e disse: – Uma foice enferrujada! Ele sentiu, no dia seguinte, que já estava sob rigorosa vigilância e que não conseguia ir a lugar algum sem ser seguido. Antes de se completar uma semana, ele foi detido. As provas circunstanciais foram gradativamente reunidas contra ele, e isso com uma furiosa hostilidade e com uma ingenuidade pavorosa. Mas, veja-se a justiça dos homens, e como ela foi providenciada para ele! Ele foi acusado de ter envenenado a moça no quarto da noiva. Logo ele, que com especial cuidado evitara por todos os meios pôr em perigo um fio de cabelo seu que fosse por ela; ele, que a vira morrer vitimada por sua própria incapacidade! Houve dúvida: por qual dos dois crimes ele deveria ser julgado primeiro? Mas escolheram o crime verdadeiro, e ele foi considerado culpado e condenado à morte. Desgraçados sedentos de sangue! Eles o teriam declarado culpado de qualquer coisa, tão determinados que estavam a acabar com a vida dele.
O dinheiro dele nada pôde fazer para salvá-lo, e ele foi enforcado. Eu sou ele, e fui enforcado no Castelo Lancaster com o rosto virado para a parede há cem anos! Diante deste terrível anúncio, o sr. Goodchild tentou levantar-se e gritar por socorro, mas as duas linhas de fogo que se estendiam desde os olhos do velho até os seus próprios olhos mantiveram-no sentado e ele não conseguia emitir som algum. Entretanto, sua audição estava aguçada, e ele ouviu o relógio bater duas vezes. Um. Dois. Na segunda batida, ele viu diante de si dois velhos! Dois. Os olhos de cada um conectados com os dele por dois filetes de fogo; cada um dos dois exatamente igual ao outro; cada um dos dois falando com ele precisamente no mesmo instante; cada um dos dois rangendo os mesmos dentes na mesma cabeça, com a mesma narina torcida acima dos dentes, com a mesma expressão estampada ao redor do nariz. Dois velhos. Não se diferenciavam em nada, e ao mesmo tempo eram distintos um do outro ao olhar de quem os visse; e a cópia, em relação ao original, não vinha em cores mais desmaiadas, o segundo velhinho mostrando-se tão real quanto o primeiro. – A que horas – perguntaram os dois velhos – vocês chegaram à porta desta casa? – Às seis. – E havia seis velhos na escada! Depois que o sr. Goodchild enxugou o suor da testa, ou pelo menos tentou fazê-lo, os dois velhos prosseguiram em uma só voz, naquele espetáculo singular: Eu fui dissecado, mas o meu esqueleto ainda não tinha sido remontado e pendurado outra vez num gancho de ferro quando começou o boato de que o quarto da noiva era mal-assombrado. Ele era malassombrado, e eu estava lá. Nós estávamos lá. Ela e eu estávamos lá. Eu, na cadeira junto à lareira; ela, novamente um navio branco naufragado, arrastando-se em minha direção. Mas agora não era eu quem falava, e a única palavra que ela me dizia, desde a meia-noite até o amanhecer, era: “Viva!”. Assim como eu e ela, o jovem também estava lá. Na árvore do lado de fora da janela. Indo e vindo ao luar, à medida que a árvore balançava para um lado e para outro. Ele tem estado lá desde então, me espionando em meu tormento; revelando-se aos meus olhos aqui e ali, nas luzes fracas e nas sombras cinzentas onde ele vem e vai, sem chapéu, a cabeça descoberta – uma foice cravada de quina em sua cabeleira. No quarto da noiva, todas as noites, desde a meia-noite até o amanhecer – exceto em um mês do ano, como eu vou contar aos senhores –, ele se esconde na árvore e ela se aproxima de mim arrastando-se pelo chão; nunca chegando mais perto; sempre visível como se banhada de luar, esteja a lua brilhando ou não; o tempo todo dizendo, desde a meia-noite até o amanhecer, sua única palavra: “Viva!”.
Mas, no mês em que me vejo forçado a sair dessa vida – o mês corrente, de trinta dias –, o quarto da noiva fica vazio e quieto. Bem diferente é o meu velho calabouço. Bem diferentes são os quartos onde vivi assustado e ansioso por dez anos. Os dois agora são mal-assombrados de modo intermitente. À uma da madrugada, eu sou o que vocês viram quando o relógio marcou essa hora – um velho. Às duas da madrugada, eu sou dois velhos. Às três, eu sou três. Nas doze badaladas do meio-dia, eu sou doze velhos, um para cada cem por cento dos meus antigos ganhos. Cada um dos doze, com doze vezes a minha velha capacidade para o sofrimento e para a agonia. Desde essa hora até as doze badaladas da meia-noite, eu, doze velhos angustiados e presas de um pavoroso pressentimento, espero pela chegada do executor. À meia-noite em ponto, eu, doze velhos apagados, estou balançando invisível do lado de fora do Castelo Lancaster, com doze rostos virados para a parede! Quando o quarto da noiva tornou-se mal-assombrado, fiquei sabendo que essa punição não cessaria nunca, não até que eu pudesse contar a minha história para dois homens vivos que me ouvissem ao mesmo tempo, devendo eu contar-lhes também sobre a natureza dessa assombração. Esperei por anos a fio pela chegada de dois homens vivos que viessem juntos até o quarto da noiva. Foi incutido na minha consciência (por meios que ignoro) que, se dois homens vivos, de olhos abertos, pudessem estar no quarto da noiva à uma da madrugada, eles poderiam me ver sentado na minha cadeira. Finalmente, os boatos de que o quarto era espiritualmente perturbado trouxeram dois homens em busca de uma aventura. Eu mal havia sido jogado perto da lareira, à meia-noite (cheguei ali como se o relâmpago me tivesse trazido à existência na explosão de um raio), quando ouvi os dois senhores subindo os degraus da entrada da casa. Depois, eu os vi entrar. Um deles era careca, alegre, um sujeito ativo, na plenitude da vida, de uns 45 anos de idade; o outro, uns 12 anos mais moço. Traziam provisões em uma cesta e garrafas. Uma jovem os acompanhava, com lenha e carvão para acender o fogo. Depois que ela acendeu o fogo, o homem careca, alegre e ativo acompanhou-a pelo corredor, certificou-se de que ela descera as escadas em segurança e voltou rindo para o quarto. Passou a chave na porta, examinou o quarto da noiva, tirou os conteúdos da cesta e colocou-os na mesa diante do fogo – e encheu os copos e comeu e bebeu. Seu amigo fez o mesmo, e estava tão alegre e confiante como ele, embora fosse ele o líder. Depois de cearem, colocaram as pistolas na mesa, viraram-se para o fogo e começaram a fumar seus cachimbos de origem estrangeira. Eles haviam viajado juntos, haviam estado juntos muito tempo e tinham uma enorme quantidade de assuntos em comum. No meio da conversa e dos risos, o mais novo fez referência ao fato de o líder estar sempre pronto para qualquer aventura, tanto fazia se uma aventura como aquela ou qualquer outra. Ele respondeu com as seguintes palavras: – Não exatamente, Dick. Se não tenho medo de mais nada, tenho medo de mim mesmo. Seu amigo, parecendo ter ficado um tanto quanto confuso, perguntou: – Mas em que sentido? Como assim? – Ora, então – ele respondeu –, temos aqui um fantasma a ser desacreditado. Muito bem! Não sou responsável por aquilo que a minha imaginação poderia fazer comigo se eu estivesse aqui sozinho, nem pelas ilusões dos meus sentidos se eles tomassem conta de mim. Mas, na companhia de outro homem, e especialmente com você, Dick, eu concordaria em enfrentar todos os fantasmas que por acaso houvesse no universo. – Eu não seria vaidoso a ponto de supor que a minha presença pudesse ser de alguma importância hoje, nesta noite – disse o outro. – De muita importância – corrigiu o líder, falando agora com mais seriedade. – Tanta que eu, pela razão que já citei, sob circunstância alguma teria me animado a passar a noite aqui sozinho. Passavam alguns minutos da uma. O homem mais jovem havia cabeceado ao tecer seu último comentário, e agora cabeceava mais ainda. – Mantenha-se acordado, Dick! – disse o líder, com animação. – A madrugada é a pior parte. Ele bem que tentou, mas já estava dormitando. – Dick! – insistiu o líder. – Mantenha-se acordado! – Eu não consigo – murmurou ele, de modo indistinto. – Eu não sei que estranha influência está tomando conta de mim. Eu não consigo. O amigo olhou para ele com repentino pavor, e eu, do meu modo diferente, senti também um novo pavor; pois o relógio bateu uma hora, e eu senti que o segundo observador entregava-se a mim, e a maldição que pesava sobre mim obrigava-me a fazê-lo dormir. – Levante-se e caminhe, Dick – gritou o líder. – Tente! De nada adiantou ir por trás da cadeira do dorminhoco e sacudi-lo. Ouviu-se o relógio bater uma hora, e eu me tornei visível para o homem mais velho, que parou petrificado à minha frente. Fui obrigado a contar a minha história apenas para ele, sem esperança de me beneficiar com isso. Só para ele. Eu era um fantasma medonho fazendo uma confissão inútil. Prevejo que será sempre a mesma coisa, eternamente. Os dois homens vivos e juntos jamais chegarão para me libertar. Quando apareço, os sentidos de um dos dois bloqueiam-se pelo sono; este não vai nem me ver, nem me ouvir; meu comunicado será feito sempre para um único ouvinte e será sempre inútil. Que desgraça! Que desgraça! Que desgraça! Quando os dois velhos, com essas palavras, torciam e retorciam as mãos, veio à cabeça do sr. Goodchild que ele se encontrava na terrível situação de estar virtualmente a sós com a aparição, e que a imobilidade do sr. Idle se explicava pelo fato de ele ter sido enfeitiçado para dormir quando fosse uma hora da madrugada. Sob a influência dessa descoberta repentina que nele produziu um indescritível pavor, o sr. Goodchild lutou com todas as forças para se livrar dos quatro filetes de fogo, até conseguir quebrá-los – depois de ter conseguido esticá-los e esticá-los. Livre daquela conexão, ele levantou o sr. Idle do sofá e correu com ele até o andar de baixo. – O que é isso, Francis? – perguntou o sr. Idle. – O meu quarto não fica aqui embaixo. Por que cargas d’água você está me carregando? Eu consigo caminhar com a minha bengala. Eu não quero ser carregado. Ponhame no chão. O sr. Goodchild largou o sr. Idle no antigo hall de entrada e olhou ao redor, frenético. – O que você está fazendo? Idioticamente atirando-se em cima de outro homem, salvando o outro ou matando-se a si mesmo na tentativa? – perguntou o sr. Idle, com um tremendo mau humor. – Aquele velho número um! – gritou o sr. Goodchild, desatento. – E os dois velhos! O sr. Idle não poderia dar outra resposta, a não ser: – Aquela velha, é o que você quer dizer – e com isso ele começou a subir a escada para voltar, mancando, com a ajuda do largo corrimão. – Eu lhe asseguro, Tom – começou o sr. Goodchild, ajudando o amigo a subir a escada –, que desde que você pegou no sono... – Ora, vamos, essa é boa! – disse Thomas Idle. – Eu nem fechei o olho! Com a peculiar sensibilidade ao assunto do ato vergonhoso de cair no sono fora da cama, que é normal à condição humana, o sr. Idle insistia na sua afirmação. A mesma peculiar sensibilidade levou o sr. Goodchild, ao ser acusado do mesmo crime, a repudiá-lo com honrosa indignação. A solução do problema daquele um velho e dos dois velhos ficou complicada naquele momento e logo a seguir tornou-se impraticável. O sr. Idle disse que tudo não passava de confeitos de bolo de noiva e fragmentos rearranjados de coisas vistas e pensadas durante o dia. O sr. Goodchild perguntou como era possível, se ele não tinha dormido? O sr. Idle disse que ele não tinha dormido, e nunca tinha pegado no sono nem por um segundo, e que o sr. Goodchild, via de regra, estava sempre dormindo. Depois disso, eles se despediram com um boa-noite à porta de seus quartos, um pouco incomodados um com o outro. As últimas palavras do sr. Goodchild foram que ele tinha tido, naquela real, tangível e antiga sala de estar, daquele real, tangível e antigo hotel (ou ele podia supor que o sr. Idle negava a existência do hotel?), aquelas sensações e aquela experiência, das quais o presente registro está a uma ou duas linhas de seu fecho; e que ele iria deixar tudo registrado por escrito e publicaria o relato com todas as letras. O sr. Idle respondeu que ele podia fazer isso se quisesse – e ele quis, e agora está feito.
7 Goodchild: boa criança. (N.T.)
8 Idle: ocioso, preguiçoso; fútil. (N.T.) 9 Bay window é um tipo de janela que se projeta para fora do edifício. Foi muito popular na arquitetura vitoriana. (N.T.)
Era uma genuína casa antiga, de estilo muito estranho: uma profusão de antigos entalhes e vigas e lambris, e uma escada maravilhosa com uma galeria ou escada superior separada por um curioso parapeito de carvalho antigo ou daquele antigo mogno de Honduras. Era, é e será, por muitos anos ainda, uma casa notável e digna de ser retratada em uma pintura; e um certo mistério ameaçador, escondido na profundidade dos lambris de mogno antigo, como se estes fossem fundas poças de água escura – tantas quantas, na verdade, tinham sido quando ainda eram árvores –, emprestava à casa um aspecto muito misterioso depois do anoitecer. Quando o sr. Goodchild7 e o sr. Idle8 apearam à sua porta pela primeira vez e entraram na velha mansão sombria e charmosa, foram recebidos por meia dúzia de homens velhos e silenciosos, todos vestidos com o mesmo traje preto, que deslizaram escada acima juntamente com o obsequioso proprietário e o garçom – mas parecendo não atrapalhar o caminho deles, ou pelo menos não se importando se atrapalhavam ou não – e que se enfileiraram à direita e à esquerda na escadaria antiga, enquanto os hóspedes entravam em sua sala de estar. Naquele momento era dia, e o sol brilhava. O sr. Goodchild disse, assim que a porta foi fechada: – Afinal, quem são esses velhos? – e depois, tanto ao sair como ao entrar, ele notou que não tinha nenhum velho à vista. Eles não apareceram mais, nem juntos nem separados. Os dois amigos passaram a noite na velha casa, mas não viram nem sinal dos velhos. O sr. Goodchild, enquanto passeava pela casa, olhou pelos corredores e olhou para dentro de portas abertas, sem encontrar nenhum dos velhos; e também parecia que nenhum funcionário do estabelecimento estava sentindo falta ou mesmo esperando por eles. Uma outra situação estranha que os impressionou foi o fato de que a porta da sala de estar deles não ter ficado intocada por mais de quinze minutos. A porta era aberta com hesitação, com segurança, só um pouquinho, quase toda, e sempre fechada de novo com firmeza, sem uma única palavra de explicação. Eles podiam estar lendo ou escrevendo, comendo ou bebendo, conversando ou cochilando; a porta abria-se sempre em um momento inesperado e, quando eles olhavam em sua direção, fechava-se com firmeza outra vez e não se via ninguém. Depois que isso aconteceu mais ou menos cinquenta vezes, o sr. Goodchild disse, debochando, ao seu amigo: – Começo a achar, Tom, que tinha alguma coisa de errado com aqueles seis velhos. A noite chegara outra vez, e eles tinham estado escrevendo por duas ou três horas, escrevendo, em resumo, uma parte das anotações ociosas das quais foi tirado este texto ocioso. Eles tinham parado de escrever, e os seus óculos estavam em cima da mesa, e a mesa estava entre os dois. A casa estava fechada e quieta. Em volta da cabeça de Thomas Idle, enquanto ele estava deitado no sofá, pairavam suaves anéis de fumaça perfumada. As têmporas de Francis Goodchild tinham a mesma decoração, enquanto ele se recostava na poltrona com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça e as pernas cruzadas. Eles haviam especulado sobre vários assuntos fúteis, sem omitir os velhos estranhos, e estavam ainda assim ocupados quando o sr. Goodchild bruscamente mudou de posição para dar corda em seu relógio. Eles estavam recém começando a ficar sonolentos o suficiente para ter a conversa interrompida por causa de alguma pequena coisa daquele tipo. Thomas Idle, que estava falando naquele momento, interrompeu-se e disse: – De quantos giros você precisa? – Um – disse Goodchild. E, como se ele tivesse chamado um dos velhos, e tivesse sido prontamente atendido (verdade seja dita que todos os pedidos eram prontamente atendidos naquele excelente hotel), a porta se abriu e um dos velhos estava ali parado. Ele não entrou, mas ficou segurando a porta. – Um dos seis, Tom, finalmente! – disse o sr. Goodchild, num murmúrio surpreso. – Senhor, eu posso ajudá-lo? – disse número um. – Eu não toquei a sineta. – A sineta tocou – disse o velho número um. Ele disse sineta de um jeito tão forte e grave que poderia ter descrito o sino da igreja. – Acredito que tive o prazer de encontrá-lo ontem, correto? – disse Goodchild. – Eu não posso lhe garantir – foi a sinistra resposta do velho número um. – Eu acho que o senhor me viu. Ou não? – Vi o senhor? – disse o velho. – Ah, sim, eu vi o senhor. Mas eu vejo muitos que nunca me veem. Um velho gélido, lento, grosseiro, rígido e cadavérico, com um discurso calculado. Um velho que parecia impossibilitado de piscar, como se suas pálpebras tivessem sido pregadas na testa. Um velho cujos olhos – dois pontos de fogo – quase não se mexiam, como se estivessem conectados com a parte posterior de seu crânio por meio de parafusos que lhe atravessavam a cabeça e recebiam arruelas e porcas bem apertadas acima da nuca, em meio ao seu cabelo grisalho. A noite tinha se tornado tão fria para os sentidos do sr. Goodchild que ele sentiu calafrios e então comentou suavemente, meio que se justificando: – Acho que alguém está caminhando sobre o meu túmulo. – Não – disse o velho esquisito –, não tem ninguém lá. O sr. Goodchild olhou para Idle, mas este estava deitado com a cabeça envolta em fumaça.
– Não tem ninguém lá? – disse Goodchild. – Não tem ninguém no seu túmulo, isso eu lhe garanto – disse o velho.
Ele tinha entrado e fechado a porta, e agora estava se sentando. Ele não se curvou para sentar como as outras pessoas fazem, mas pareceu afundar completamente ereto, como se estivesse afundando na água, até que a cadeira o fez parar de afundar. – Meu amigo, sr. Idle – disse Goodchild, extremamente ansioso para introduzir uma terceira pessoa na conversa. – Eu estou – disse o velho sem olhá-lo – a serviço do sr. Idle. – Se você é um antigo morador deste lugar – Francis Goodchild prosseguiu… – Sim. – Talvez você possa esclarecer um ponto sobre o qual meu amigo e eu estávamos em dúvida esta manhã. Criminosos condenados à forca são executados no castelo, correto? – Eu acredito que sim – disse o velho. – Os rostos deles ficam virados para aquela esplêndida vista? – O seu rosto fica virado – respondeu o homem – para a parede do castelo. Quando você está amarrado, você enxerga as pedras da parede do castelo se expandirem e contraírem violentamente, e parece que uma expansão e contração igual ocorre dentro da sua própria cabeça e no seu peito. Então, vem uma explosão, um fogo, e sobrevém um terremoto e o castelo dá um salto no ar e você cai num precipício. A gravata parecia incomodá-lo. Ele pôs a mão na garganta e moveu o pescoço para um lado e para o outro. Ele era um velho de cara inchada, e seu nariz era levantado de um lado, como se um pequeno gancho estivesse sempre puxando aquela narina para cima. O sr. Goodchild sentiu-se excessivamente desconfortável e começou a achar que a noite estava quente, e não fria. – Uma descrição bem forte – observou ele. – Uma sensação bem forte – respondeu o velho. Outra vez, o sr. Goodchild olhou para o sr. Thomas Idle, mas este estava deitado, de costas, o rosto atento voltado para o velho número um e sem dar sinal de vida. Nesse momento, o sr. Goodchild acreditou ter visto filetes de fogo estendendo-se dos olhos do velho até os seus próprios olhos, unindo-os. (O sr. Goodchild é quem escreve o presente relato de sua experiência e, com toda a solenidade, declara que, a partir daquele instante, teve uma forte sensação de estar sendo obrigado a encarar o velho, seu olhar preso por aquelas duas membranas incandescentes.) – Eu preciso lhe contar – disse o velho, com um olhar fixo, duro e horripilante. – O quê? – perguntou Francis Goodchild. – O senhor sabe onde aconteceu. Lá! Se ele apontou para a sala de cima, ou para a sala de baixo, ou para qualquer sala daquela casa velha, ou para uma sala de alguma outra casa velha daquela velha cidade, o sr. Goodchild não tinha, não tem e nunca poderá ter certeza. Ele ficou confuso por ver que o dedo indicador direito do velho número um parecia mergulhar em um dos filetes de fogo, acender-se como um fósforo e criar um rastro incandescente no ar enquanto apontava em uma direção. Depois, o dedo se apagava. – O senhor sabe que ela era uma noiva – disse o velho. – Eu sei que ainda servem bolo de noiva – gaguejou o sr. Goodchild. – O ar está opressivo. Ela era uma noiva, disse o velho. Era linda, o cabelo muito claro, cor de palha, e olhos grandes, mas sem personalidade e sem ambição. Uma moça fraca, crédula, incapaz, indefesa, em suma: um nada. Não era como a sua mãe. Isto ela não era mesmo, tinha herdado a personalidade do pai. A mãe preocupou-se em assegurar tudo para si, para sua própria vida, quando o pai da moça (uma criança na época) morreu – de pura incapacidade – nenhum outro problema; ele então retomou o relacionamento que tinha mantido no passado com a mãe. Ele fora desprezado quando apareceu o homem de cabelo muito claro, cor de palha, e olhos grandes (um ninguém) com dinheiro. Para fazer vista grossa à situação, ele queria uma compensação em dinheiro. Por isso, ele voltou para junto daquela mulher, a mãe, fez amor com ela outra vez, deu-lhe atenção e submeteu-se a todos os seus caprichos. Ela exigia que ele satisfizesse cada um deles, os reais e os inventados. Ele aguentou tudo. E, quanto mais aguentava, mais compensação em dinheiro queria e mais decidido ficava a cobrá-la. Mas, vejam só! Antes que ele conseguisse o dinheiro, ela o enganou. Durante um dos seus ataques de fúria, ela congelou para nunca mais. Uma noite, ela levou as mãos à cabeça, deu um grito, seu corpo enrijeceu, ela ficou nessa posição por algumas horas e depois morreu. E ele ainda não tinha arrancado dela sua compensação em dinheiro. Maldita seja! Nem um centavo. Ele a odiara durante todo o tempo do segundo relacionamento dos dois, e desejara e esperara pela vingança. Então, ele forjou a assinatura dela em um documento pelo qual ela deixava tudo o que tinha para a filha – dez anos de idade à época –, para quem a propriedade era transferida em caráter definitivo, e o nomeava o guardião legal da menina. Quando ele enfiou o documento debaixo do travesseiro dela, curvou-se e sussurrou na orelha surda da morte: – Madame Metida, faz muito tempo eu decidi que, viva ou morta, você tem a obrigação de me dar uma compensação em dinheiro. Então, naquele momento, só restavam dois, ele e a menina bonita de cabelo muito claro, cor de palha, olhos grandes, porém muito boba; a filha dela que depois veio a ser a noiva. Ele a colocou numa escola, uma casa escondida, escura, opressiva e antiquíssima, sob os cuidados de uma mulher atenta e inescrupulosa. – Minha mui digna senhora – disse ele –, aqui está uma mente a ser formada; a senhora poderia me ajudar a formá-la?
Ela aceitou a tutela da menina. Para a qual ela também quis uma compensação em dinheiro e obteve. A garota foi criada para ter medo dele, na convicção de que não poderia escapar dele. Ela foi preparada desde o início a enxergá-lo como seu futuro marido – o homem que teria de se casar com ela – o destino que a ofuscava – a certeza predeterminada para a qual não havia escapatória. A pobre tola menina era cera macia e branca nas mãos deles e aceitou a marca que imprimiram nela. Com o tempo, endureceu. Tornou-se uma parte inseparável dela e só poderia ser arrancada junto com a sua própria vida. Onze anos ela vivera na casa escura com seu jardim sombrio. Ele tinha ciúme até mesmo da luz e do ar que a envolviam, e eles a mantinham sempre por perto. Ele lacrou as amplas lareiras, escureceu as pequenas janelas, deixou a hera de grossos caules alastrar-se por onde bem entendesse, cobrindo a fachada da casa; deixou o musgo acumular-se nas árvores frutíferas nunca podadas do jardim com muro vermelho e deixou as ervas daninhas tomarem conta dos passeios de pedras verdes e amarelas. Ele a cercou com imagens de tristeza e desolação, e fez o possível para que ela ficasse com medo do lugar e das histórias que se contavam a respeito do lugar, e tudo com o pretexto de assim remediar esses medos: o medo de ficar sozinha, ou de encolher de tamanho na escuridão da casa. Quando a menina ficava deprimida ao máximo e sufocada de pavores, ele aparecia, saído de um dos esconderijos de onde ele a observava, e se apresentava como sendo seu único apoio. Desse modo, sendo ele, desde a infância dela, a única personificação que a vida apresentou àquela menina do poder de coagir e do poder de aliviar, do poder de amarrar e do poder de libertar, a ascendência dele sobre a fragilidade dela estava garantida. Ela contava 21 anos e 21 dias de idade quando ele a levou para casa, a casa sombria – uma noiva havia apenas três semanas: tola, assustada e submissa. Ele então já havia despedido a governanta – o que lhe faltava fazer, ele faria melhor sozinho –, e eles voltaram em uma noite chuvosa para o cenário da longa preparação dela. Ela se virou para ele na soleira da porta, enquanto a chuva pingava do telhado da varanda, e disse: – Ah, senhor, é o tique-taque do relógio da Morte pulsando para mim! – Bem! – ele respondeu. – E se fosse? – Ah, senhor! – ela se virou outra vez para ele. – Olhe com bondade para mim e tenha piedade! Eu imploro o seu perdão. Eu faço qualquer coisa que o senhor quiser, se ao menos o senhor me perdoar! Esta se tornou a ladainha constante da pobre imbecil: “Eu imploro o seu perdão” e “Me perdoe!” Não valia a pena odiá-la; ele não sentia nada além de desprezo por ela. Mas ela estivera no caminho dele por muito tempo, e ele estava farto havia muito tempo; e o serviço estava próximo do fim e precisava ser resolvido. – Sua idiota – disse ele. – Vá lá para cima! Ela obedeceu bem depressa, murmurando:
– Eu faço qualquer coisa que o senhor quiser! Quando ele entrou no quarto da noiva, tendo se atrasado um pouco fechando os pesados ferrolhos da porta principal (já que eles estavam sós na casa, pois ele tinha tudo organizado de modo que os empregados fossem diaristas), ele a encontrou encolhida no canto mais afastado do quarto, encostada nos lambris da parede como se quisesse esconder-se dentro deles: o cabelo muito claro, cor de palha, desgrenhado sobre o rosto e os olhos grandes fixos nele estampando um vago terror. – Do que você está com medo? Venha e sente-se aqui perto de mim. – Eu farei tudo que o senhor quiser. Eu imploro o seu perdão, senhor! Me perdoe! – sua ladainha monótona de sempre. – Ellen, aqui está um texto que você precisa copiar a mão, amanhã. O melhor é que você seja vista por outros enquanto estiver ocupada nessa escrita. Quando você terminar de copiar bem certinho, com todos os erros corrigidos, você chama dois dos empregados, não importa quem, e, na frente desses dois, você coloca a sua assinatura no papel. Depois, guarde o documento no decote para que fique seguro e, quando eu sentar aqui outra vez amanhã à noite, você me entrega o papel. – Vou fazer tudo com o maior cuidado. Farei tudo que o senhor quiser. – Então pare de se sacudir e tremer. – Vou tentar de todas as maneiras não tremer… se ao menos o senhor me perdoasse! No outro dia, ela se sentou à escrivaninha e agiu como tinha sido instruída. Ele entrou e saiu da sala várias vezes, observando-a, sempre percebendo que ela estava escrevendo devagar e com bastante empenho, repetindo para si mesma as palavras que copiava, aparentemente de modo mecânico, sem se preocupar ou se esforçar para entendê-las, de modo que ela completou a tarefa. Ele a viu seguir, em todos os detalhes, as instruções recebidas e, à noite, quando ficaram sozinhos outra vez no quarto da noiva, ele puxou a cadeira onde estava sentado para junto da lareira, ela timidamente se levantou de sua cadeira afastada e se aproximou dele, tirou o papel do decote e o entregou na mão dele. O documento assegurava que, em caso de morte, todos os bens dela passariam para ele. Ele a colocou à sua frente, cara a cara, para que pudesse olhá-la firme, e perguntou a ela, diretamente, com todas as palavras, nem a mais nem a menos, se ela havia entendido. Havia manchas de tinta no peitilho do seu vestido branco, e as manchas faziam o seu rosto parecer ainda mais branco e os seus olhos ainda maiores quando ela fez que sim com um gesto de cabeça. Havia manchas de tinta na mão com a qual ela, nervosa diante dele, amarrotava e vincava suas saias brancas. Ele a tomou pelo braço e olhou para ela, desta vez um olhar ainda mais atento e mais firme. – Agora, morra! Meu assunto com você está encerrado. Ela se encolheu e soltou um grito baixinho, sufocado.
– Eu não vou matar você. Não vou pôr em risco a minha vida pela sua. Morra! Ele se sentava diante dela em seu quarto de noiva triste, dia após dia, noite após noite, personificando aquela palavra diante da moça mesmo quando não a pronunciava. Toda vez que ela erguia os olhos inexpressivos das mãos, entre as quais movimentava a cabeça para encarar a figura inflexível, sentada, de braços cruzados, podia ler na testa franzida dele: “Morra!”. Quando ela caía no sono por exaustão, era chamada de volta à consciência horrorizada pelo sussurro: “Morra!”. Quando ela suplicava por perdão, a resposta era: “Morra!”. Quando a longa noite de observação e sofrimento chegava ao fim e o brilho do sol nascente entrava no quarto sombrio, ela ouvia a saudação: – Outro dia e você não morreu? Morra! Trancado na mansão deserta, distante da espécie humana, empenhado sozinho naquela guerra sem trégua, a questão era que um ou outro teria de morrer: ou ele ou ela. Sabendo disso muito bem, ele concentrou sua força contra a fragilidade dela. Durante horas e horas ele a segurava pelo braço até que este ficasse roxo e ordenava: “Morra!” Aconteceu em uma manhã de muito vento, antes de o sol nascer. Ele registrou o horário como sendo quatro e meia, porém o seu relógio fora esquecido e estava parado, ele não podia ter certeza. Ela escapara dele durante a noite, com gritos altos e repentinos – os primeiros desse tipo que ela havia berrado; ele fora obrigado a tapar-lhe a boca com a mão. A partir daquele momento, ela ficou quieta e, no canto junto aos painéis da parede onde se refugiara, desabou; ele a deixou lá e voltou de braços cruzados e testa franzida para a cadeira. Parecendo mais pálida sob a luz difusa, mais macilenta do que nunca, no deprimente amanhecer ele a viu aproximar-se, arrastando-se pelo chão até ele – um navio naufragado, branco, de cabelo, vestido e olhos selvagens; impulsionado por remos que eram mãos vacilantes. – Perdoe-me! Eu faço qualquer coisa! Por favor, diga que eu posso viver! – Morra! – O senhor está decidido? Não existe nenhuma esperança para mim? – Morra! Os grandes olhos dela apertaram-se primeiro com olhar de espanto e medo, depois de acusação, e finalmente o inexpressivo, o nada. Aconteceu. No primeiro instante, ele não estava muito certo de que realmente acontecera, mas o sol da manhã fez surgirem joias nos cabelos dela – ele viu diamantes, esmeraldas e rubis brilhando entre as pequenas pontas enquanto olhava para ela, ali deitada no chão – quando ele a ergueu e colocou-a na cama. Foi logo enterrada. Agora todos tinham partido, e ele compensara a si mesmo de modo satisfatório. Tinha vontade de viajar. Não que quisesse desperdiçar seu dinheiro, pois era um homem econômico e gostava imensamente de seu dinheiro (e de mais nada, com certeza), mas estava cansado daquela casa isolada e desejava virar-lhe as costas e encerrar o assunto. Porém, a casa tinha valor comercial, e não se joga dinheiro fora. Decidiu vendê-la antes de viajar. Fez com que a casa tivesse um aspecto bem menos deplorável e assim aumentasse seu valor de venda; contratou trabalhadores para limpar o jardim abandonado; cortar os galhos secos, podar a hera que pendia em chumaços pesados sobre as janelas e a cumeeira da casa, limpar os caminhos onde as ervas daninhas tinham crescido até a altura do joelho. Trabalhou junto com eles. E continuava trabalhando até mais tarde, depois que os homens iam embora. Numa tarde de outono, no horário do crepúsculo, depois que a noiva já estava morta havia cinco semanas e ele trabalhava sozinho com sua foice, pensou: “Está ficando muito escuro para continuar, preciso encerrar por hoje”. Ele detestava a casa e estava relutante em entrar. Olhou para o pórtico escuro, esperando por ele como uma tumba, e sentiu que aquela era uma casa amaldiçoada. Perto do pórtico, e perto de onde ele estava, existia uma árvore cujos galhos acenavam em frente à antiga bay window9 do quarto da noiva, onde tudo fora feito. De repente, a árvore balançou e ele estremeceu. Ela balançou outra vez, apesar de a noite estar parada. Olhando para cima, ele enxergou um vulto entre os galhos. Era a silhueta de um homem jovem. O rosto olhou para baixo no momento que ele olhou para cima; os galhos estalaram e oscilaram; o vulto desceu rapidamente e colocou-se de pé diante dele. Um jovem magro, mais ou menos da idade dela, de cabelo comprido, castanho claro. – Mas quem é este ladrão? – disse ele, agarrando o jovem pelo colarinho. O rapaz, ao livrar-se com um safanão, golpeou com o braço o rosto e a garganta do outro. Eles se aproximaram uma vez mais para brigar, mas então o jovem afastou-se, deu um passo para trás, gritando em desespero e pavor: – Não me toque! Eu de bom grado prefiro ser tocado pelo Diabo! Ele ficou parado com a foice na mão, olhando para o jovem, cujo olhar era a duplicata do último olhar dela, e ele jamais esperara ver aquilo de novo. – Eu não sou ladrão. E se eu fosse, não ia querer nem uma moeda da sua fortuna, mesmo que com ela pudesse comprar as Índias, seu assassino! – O quê? – Eu subi – disse o jovem apontando para a árvore – pela primeira vez, uma noite, há quatro anos. Eu subi para olhar para ela. Eu a vi. Eu falei com ela. Eu subi muitas vezes para olhá-la e ouvi-la. Eu era um garoto escondido entre as folhas quando, pela bay window, ela me deu isto! Ele mostrou uma mecha de cabelo muito claro, cor de palha, amarrada com uma fita originalmente usada na roupa em sinal de luto. – A vida dela – disse o jovem – era uma vida de luto. Ela me deu isto como uma lembrança e um sinal de que estava morta para tudo e para todos, menos para você. Se eu fosse mais velho, se eu a tivesse conhecido antes, talvez pudesse tê-la salvado de você. Mas ela já estava presa na sua teia quando eu subi na árvore pela primeira vez; e, naquela época, o que eu podia ter feito para cortar a sua teia? Dizendo essas palavras, ele teve um acesso de choro e de gritos, fraco no início, depois violento: – Assassino! Eu subi na árvore na noite em que você a trouxe de volta. De cima da árvore, eu a ouvi falar sobre a sentinela da Morte à porta de seu quarto. Eu estive três vezes trepado na árvore enquanto você ficava trancado ali com ela, matando-a aos poucos. Eu a vi, de cima da árvore, deitada, morta, na cama. Da árvore, tenho observado você, sempre em busca de alguma prova, algum sinal de culpa. O modo como foi feito ainda é um mistério para mim, mas vou persegui-lo até você entregar a sua vida ao carrasco, na forca. Até esse dia, você não vai se ver livre de mim. Eu a amava! Não conheço nenhum atenuante para você. Assassino, eu a amava! O jovem estava com a cabeça descoberta, tendo o seu chapéu caído enquanto ele descia da árvore. Ele andou em direção ao portão. Precisava passar pelo outro para alcançar o portão. Existia largura suficiente para que duas carruagens antigas puxadas por dois cavalos cada uma passassem lado a lado, e a aversão que o jovem sentia, expressa em cada traço do seu rosto e em todos os membros do seu corpo, coisa difícil de suportar, tinha o alcance suficiente para manter-se à distância. Ele (estou me referindo ao outro) não tinha mexido nem mão nem pé desde que havia parado para olhar o rapaz. Agora, girava a cabeça para segui-lo com o olhar. Assim que viu a parte de trás da cabeça de cabelos castanhos claros, viu também uma curva vermelha saindo de sua mão e chegando ali. Ele sabia, antes mesmo de atirar a foice, onde ela havia acertado – isto mesmo: havia acertado, e não iria acertar –, pois ele teve a percepção nítida de a coisa estar feita antes que ele a fizesse. A foice rachou a cabeça do rapaz e ali permaneceu, e o rapaz caiu de borco. Ele enterrou o corpo durante a noite, ao pé da árvore. Assim que amanheceu, ele começou a trabalhar, revirando todo o solo ao redor da árvore e cortando e arrancando os arbustos vizinhos e a vegetação rasteira. Quando os trabalhadores chegaram, não havia nada suspeito, nem algo a suspeitar. Mas ele havia, em um instante, anulado todas as precauções tomadas e destruído o triunfo do plano que orquestrara por tanto tempo e que executara com tanto sucesso. Ele havia se livrado da noiva e ficara com a fortuna dela sem colocar em risco a própria vida, mas agora, por uma morte com a qual ele não ganhava nada, teria de viver eternamente com a corda no pescoço. Além disso, ele estava acorrentado à casa, sombria e horripilante, um lugar para ele insuportável. Com medo de vendê-la ou de abandoná-la, temendo que algo viesse a ser descoberto, viu-se forçado a morar ali. Contratou dois criados – um casal de velhinhos; e temia a casa que habitava. Sua maior dificuldade por muito tempo foi o jardim. Devia mantê-lo arrumado ou devia deixar que voltasse ao estado anterior de abandono: qual seria a forma que atrairia menos atenção sobre o jardim? Escolheu como melhor caminho fazer ele mesmo o serviço de jardineiro, como uma distração ao entardecer, e tratou de chamar o seu criado para ajudá-lo, e nunca deixava o velhinho trabalhar no jardim sem que ele estivesse junto. Construiu um caramanchão de frente para a árvore, onde ele poderia sentar-se e verificar que tudo estivesse certo. À medida que mudavam as estações e a árvore mudava, sua mente percebia perigos que estavam sempre mudando. Na época em que a árvore ficou repleta de folhas, ele notou que os ramos de cima cresciam com o formato do jovem – as folhas formavam a silhueta exata do rapaz, sentado em um galho bifurcado que balançava ao vento. Na época de caírem as folhas, ele percebeu que elas caíam da árvore formando letras reveladoras no chão, e mesmo que elas tinham tendência a se empilharem como um montículo de cemitério de pátio de igreja bem em cima de onde o rapaz estava enterrado. No inverno, quando as árvores ficam desfolhadas, percebeu que os galhos gesticulavam como o fantasma daquela pancada que o jovem lhe dera com o braço, e esses galhos eram para ele uma ameaça escancarada. Na primavera, quando a seiva subia pelo tronco, ele se perguntava: será que as partículas de sangue seco também estariam subindo junto, para produzir, de modo mais óbvio neste ano do que no ano passado, a forma folhosa do rapaz que balançava ao vento? Entretanto, ele investiu e reinvestiu o seu dinheiro e voltou a investilo. Atuou no mercado negro, no comércio de ouro em pó e na maioria dos negócios escusos que resultassem em grandes rendimentos. Em dez anos, ele investira e reinvestira o seu dinheiro tantas vezes que os expedidores de mercadorias e os comerciantes que faziam transações com ele não estavam mentindo nem exagerando – desta vez – quando declararam que ele aumentara sua fortuna em mil e duzentos por cento. Ele tomara posse de sua fortuna cem anos antes, quando as pessoas se perdiam com facilidade. Ele soube quem era o jovem ao ouvir falar da busca que tinha sido feita para encontrá-lo, mas a busca foi se dissipando, e o jovem foi esquecido. O ciclo anual de mudanças na árvore repetira-se dez vezes desde a noite do enterro ao pé da árvore, e então caiu uma tempestade com trovoadas fortes sobre o lugar. Começou à meia-noite e prosseguiu violenta até clarear o dia. A primeira informação que ele recebeu do velhinho seu criado naquela manhã foi que a árvore tinha sido atingida por um raio. Rachado ao meio de modo bastante surpreendente, o tronco caiu dividido em dois, duas partes chamuscadas: uma caiu de encontro à casa, e a outra, de encontro a uma parte do velho muro vermelho do jardim, onde abriu uma fenda. O raio cortara a árvore na longitudinal, mas a fissura terminava antes de chegar ao solo. Houve grande curiosidade de todos em ver a árvore, e, com a maioria de seus antigos medos reavivados, ele se sentou em seu caramanchão – um homem já bastante envelhecido – observando as pessoas que chegavam para olhá-la.
Elas rapidamente começaram a chegar em números tão assustadores que ele fechou o portão do jardim e não admitiu a entrada de mais ninguém. Mas houve certos homens das ciências que vieram de muito longe, viajaram para examinar a árvore, e ele, em má hora, os deixou entrar: – Que a peste os leve embora! Malditos sejam! Pois que entrem! Eles queriam desenterrar a ruína pela raiz para examiná-la em detalhe, bem como a terra em volta. Nunca, jamais enquanto ele vivesse! Eles lhe ofereceram dinheiro. Eles! Homens das ciências, gente que ele podia comprar às dúzias com um golpe de caneta! Apresentou a eles uma vez mais o portão do jardim e depois passou a chave e colocou a tranca no portão. Mas eles estavam determinados a fazer o que pretendiam e subornaram o velho criado – um desgraçado mal-agradecido que sempre reclamava do pouco quando era dia de pagamento – e entraram às escondidas no jardim, à noite, com lanternas, picaretas e pás e atacaram a árvore. Ele estava deitado em um quarto na pequena torre do outro lado da casa (o quarto da noiva estava sempre desocupado desde o acontecido), mas logo começou a sonhar com picaretas e pás e levantou-se. Foi até uma janela do andar superior daquele lado da casa, de onde pôde ver as lanternas e os homens e a terra solta de um monte que ele mesmo tinha remexido e colocado de volta em seu lugar da última vez que ela tinha sido revirada para arejar. Tinham encontrado o corpo! Naquele exato minuto haviam se deparado com ele. Estavam todos debruçados sobre ele. Um deles disse: – O crânio está fraturado. E um outro disse: – Vejam aqui os ossos. E um outro: – Vejam aqui as roupas. E então o primeiro interrompeu-os outra vez e disse: – Uma foice enferrujada! Ele sentiu, no dia seguinte, que já estava sob rigorosa vigilância e que não conseguia ir a lugar algum sem ser seguido. Antes de se completar uma semana, ele foi detido. As provas circunstanciais foram gradativamente reunidas contra ele, e isso com uma furiosa hostilidade e com uma ingenuidade pavorosa. Mas, veja-se a justiça dos homens, e como ela foi providenciada para ele! Ele foi acusado de ter envenenado a moça no quarto da noiva. Logo ele, que com especial cuidado evitara por todos os meios pôr em perigo um fio de cabelo seu que fosse por ela; ele, que a vira morrer vitimada por sua própria incapacidade! Houve dúvida: por qual dos dois crimes ele deveria ser julgado primeiro? Mas escolheram o crime verdadeiro, e ele foi considerado culpado e condenado à morte. Desgraçados sedentos de sangue! Eles o teriam declarado culpado de qualquer coisa, tão determinados que estavam a acabar com a vida dele.
O dinheiro dele nada pôde fazer para salvá-lo, e ele foi enforcado. Eu sou ele, e fui enforcado no Castelo Lancaster com o rosto virado para a parede há cem anos! Diante deste terrível anúncio, o sr. Goodchild tentou levantar-se e gritar por socorro, mas as duas linhas de fogo que se estendiam desde os olhos do velho até os seus próprios olhos mantiveram-no sentado e ele não conseguia emitir som algum. Entretanto, sua audição estava aguçada, e ele ouviu o relógio bater duas vezes. Um. Dois. Na segunda batida, ele viu diante de si dois velhos! Dois. Os olhos de cada um conectados com os dele por dois filetes de fogo; cada um dos dois exatamente igual ao outro; cada um dos dois falando com ele precisamente no mesmo instante; cada um dos dois rangendo os mesmos dentes na mesma cabeça, com a mesma narina torcida acima dos dentes, com a mesma expressão estampada ao redor do nariz. Dois velhos. Não se diferenciavam em nada, e ao mesmo tempo eram distintos um do outro ao olhar de quem os visse; e a cópia, em relação ao original, não vinha em cores mais desmaiadas, o segundo velhinho mostrando-se tão real quanto o primeiro. – A que horas – perguntaram os dois velhos – vocês chegaram à porta desta casa? – Às seis. – E havia seis velhos na escada! Depois que o sr. Goodchild enxugou o suor da testa, ou pelo menos tentou fazê-lo, os dois velhos prosseguiram em uma só voz, naquele espetáculo singular: Eu fui dissecado, mas o meu esqueleto ainda não tinha sido remontado e pendurado outra vez num gancho de ferro quando começou o boato de que o quarto da noiva era mal-assombrado. Ele era malassombrado, e eu estava lá. Nós estávamos lá. Ela e eu estávamos lá. Eu, na cadeira junto à lareira; ela, novamente um navio branco naufragado, arrastando-se em minha direção. Mas agora não era eu quem falava, e a única palavra que ela me dizia, desde a meia-noite até o amanhecer, era: “Viva!”. Assim como eu e ela, o jovem também estava lá. Na árvore do lado de fora da janela. Indo e vindo ao luar, à medida que a árvore balançava para um lado e para outro. Ele tem estado lá desde então, me espionando em meu tormento; revelando-se aos meus olhos aqui e ali, nas luzes fracas e nas sombras cinzentas onde ele vem e vai, sem chapéu, a cabeça descoberta – uma foice cravada de quina em sua cabeleira. No quarto da noiva, todas as noites, desde a meia-noite até o amanhecer – exceto em um mês do ano, como eu vou contar aos senhores –, ele se esconde na árvore e ela se aproxima de mim arrastando-se pelo chão; nunca chegando mais perto; sempre visível como se banhada de luar, esteja a lua brilhando ou não; o tempo todo dizendo, desde a meia-noite até o amanhecer, sua única palavra: “Viva!”.
Mas, no mês em que me vejo forçado a sair dessa vida – o mês corrente, de trinta dias –, o quarto da noiva fica vazio e quieto. Bem diferente é o meu velho calabouço. Bem diferentes são os quartos onde vivi assustado e ansioso por dez anos. Os dois agora são mal-assombrados de modo intermitente. À uma da madrugada, eu sou o que vocês viram quando o relógio marcou essa hora – um velho. Às duas da madrugada, eu sou dois velhos. Às três, eu sou três. Nas doze badaladas do meio-dia, eu sou doze velhos, um para cada cem por cento dos meus antigos ganhos. Cada um dos doze, com doze vezes a minha velha capacidade para o sofrimento e para a agonia. Desde essa hora até as doze badaladas da meia-noite, eu, doze velhos angustiados e presas de um pavoroso pressentimento, espero pela chegada do executor. À meia-noite em ponto, eu, doze velhos apagados, estou balançando invisível do lado de fora do Castelo Lancaster, com doze rostos virados para a parede! Quando o quarto da noiva tornou-se mal-assombrado, fiquei sabendo que essa punição não cessaria nunca, não até que eu pudesse contar a minha história para dois homens vivos que me ouvissem ao mesmo tempo, devendo eu contar-lhes também sobre a natureza dessa assombração. Esperei por anos a fio pela chegada de dois homens vivos que viessem juntos até o quarto da noiva. Foi incutido na minha consciência (por meios que ignoro) que, se dois homens vivos, de olhos abertos, pudessem estar no quarto da noiva à uma da madrugada, eles poderiam me ver sentado na minha cadeira. Finalmente, os boatos de que o quarto era espiritualmente perturbado trouxeram dois homens em busca de uma aventura. Eu mal havia sido jogado perto da lareira, à meia-noite (cheguei ali como se o relâmpago me tivesse trazido à existência na explosão de um raio), quando ouvi os dois senhores subindo os degraus da entrada da casa. Depois, eu os vi entrar. Um deles era careca, alegre, um sujeito ativo, na plenitude da vida, de uns 45 anos de idade; o outro, uns 12 anos mais moço. Traziam provisões em uma cesta e garrafas. Uma jovem os acompanhava, com lenha e carvão para acender o fogo. Depois que ela acendeu o fogo, o homem careca, alegre e ativo acompanhou-a pelo corredor, certificou-se de que ela descera as escadas em segurança e voltou rindo para o quarto. Passou a chave na porta, examinou o quarto da noiva, tirou os conteúdos da cesta e colocou-os na mesa diante do fogo – e encheu os copos e comeu e bebeu. Seu amigo fez o mesmo, e estava tão alegre e confiante como ele, embora fosse ele o líder. Depois de cearem, colocaram as pistolas na mesa, viraram-se para o fogo e começaram a fumar seus cachimbos de origem estrangeira. Eles haviam viajado juntos, haviam estado juntos muito tempo e tinham uma enorme quantidade de assuntos em comum. No meio da conversa e dos risos, o mais novo fez referência ao fato de o líder estar sempre pronto para qualquer aventura, tanto fazia se uma aventura como aquela ou qualquer outra. Ele respondeu com as seguintes palavras: – Não exatamente, Dick. Se não tenho medo de mais nada, tenho medo de mim mesmo. Seu amigo, parecendo ter ficado um tanto quanto confuso, perguntou: – Mas em que sentido? Como assim? – Ora, então – ele respondeu –, temos aqui um fantasma a ser desacreditado. Muito bem! Não sou responsável por aquilo que a minha imaginação poderia fazer comigo se eu estivesse aqui sozinho, nem pelas ilusões dos meus sentidos se eles tomassem conta de mim. Mas, na companhia de outro homem, e especialmente com você, Dick, eu concordaria em enfrentar todos os fantasmas que por acaso houvesse no universo. – Eu não seria vaidoso a ponto de supor que a minha presença pudesse ser de alguma importância hoje, nesta noite – disse o outro. – De muita importância – corrigiu o líder, falando agora com mais seriedade. – Tanta que eu, pela razão que já citei, sob circunstância alguma teria me animado a passar a noite aqui sozinho. Passavam alguns minutos da uma. O homem mais jovem havia cabeceado ao tecer seu último comentário, e agora cabeceava mais ainda. – Mantenha-se acordado, Dick! – disse o líder, com animação. – A madrugada é a pior parte. Ele bem que tentou, mas já estava dormitando. – Dick! – insistiu o líder. – Mantenha-se acordado! – Eu não consigo – murmurou ele, de modo indistinto. – Eu não sei que estranha influência está tomando conta de mim. Eu não consigo. O amigo olhou para ele com repentino pavor, e eu, do meu modo diferente, senti também um novo pavor; pois o relógio bateu uma hora, e eu senti que o segundo observador entregava-se a mim, e a maldição que pesava sobre mim obrigava-me a fazê-lo dormir. – Levante-se e caminhe, Dick – gritou o líder. – Tente! De nada adiantou ir por trás da cadeira do dorminhoco e sacudi-lo. Ouviu-se o relógio bater uma hora, e eu me tornei visível para o homem mais velho, que parou petrificado à minha frente. Fui obrigado a contar a minha história apenas para ele, sem esperança de me beneficiar com isso. Só para ele. Eu era um fantasma medonho fazendo uma confissão inútil. Prevejo que será sempre a mesma coisa, eternamente. Os dois homens vivos e juntos jamais chegarão para me libertar. Quando apareço, os sentidos de um dos dois bloqueiam-se pelo sono; este não vai nem me ver, nem me ouvir; meu comunicado será feito sempre para um único ouvinte e será sempre inútil. Que desgraça! Que desgraça! Que desgraça! Quando os dois velhos, com essas palavras, torciam e retorciam as mãos, veio à cabeça do sr. Goodchild que ele se encontrava na terrível situação de estar virtualmente a sós com a aparição, e que a imobilidade do sr. Idle se explicava pelo fato de ele ter sido enfeitiçado para dormir quando fosse uma hora da madrugada. Sob a influência dessa descoberta repentina que nele produziu um indescritível pavor, o sr. Goodchild lutou com todas as forças para se livrar dos quatro filetes de fogo, até conseguir quebrá-los – depois de ter conseguido esticá-los e esticá-los. Livre daquela conexão, ele levantou o sr. Idle do sofá e correu com ele até o andar de baixo. – O que é isso, Francis? – perguntou o sr. Idle. – O meu quarto não fica aqui embaixo. Por que cargas d’água você está me carregando? Eu consigo caminhar com a minha bengala. Eu não quero ser carregado. Ponhame no chão. O sr. Goodchild largou o sr. Idle no antigo hall de entrada e olhou ao redor, frenético. – O que você está fazendo? Idioticamente atirando-se em cima de outro homem, salvando o outro ou matando-se a si mesmo na tentativa? – perguntou o sr. Idle, com um tremendo mau humor. – Aquele velho número um! – gritou o sr. Goodchild, desatento. – E os dois velhos! O sr. Idle não poderia dar outra resposta, a não ser: – Aquela velha, é o que você quer dizer – e com isso ele começou a subir a escada para voltar, mancando, com a ajuda do largo corrimão. – Eu lhe asseguro, Tom – começou o sr. Goodchild, ajudando o amigo a subir a escada –, que desde que você pegou no sono... – Ora, vamos, essa é boa! – disse Thomas Idle. – Eu nem fechei o olho! Com a peculiar sensibilidade ao assunto do ato vergonhoso de cair no sono fora da cama, que é normal à condição humana, o sr. Idle insistia na sua afirmação. A mesma peculiar sensibilidade levou o sr. Goodchild, ao ser acusado do mesmo crime, a repudiá-lo com honrosa indignação. A solução do problema daquele um velho e dos dois velhos ficou complicada naquele momento e logo a seguir tornou-se impraticável. O sr. Idle disse que tudo não passava de confeitos de bolo de noiva e fragmentos rearranjados de coisas vistas e pensadas durante o dia. O sr. Goodchild perguntou como era possível, se ele não tinha dormido? O sr. Idle disse que ele não tinha dormido, e nunca tinha pegado no sono nem por um segundo, e que o sr. Goodchild, via de regra, estava sempre dormindo. Depois disso, eles se despediram com um boa-noite à porta de seus quartos, um pouco incomodados um com o outro. As últimas palavras do sr. Goodchild foram que ele tinha tido, naquela real, tangível e antiga sala de estar, daquele real, tangível e antigo hotel (ou ele podia supor que o sr. Idle negava a existência do hotel?), aquelas sensações e aquela experiência, das quais o presente registro está a uma ou duas linhas de seu fecho; e que ele iria deixar tudo registrado por escrito e publicaria o relato com todas as letras. O sr. Idle respondeu que ele podia fazer isso se quisesse – e ele quis, e agora está feito.
7 Goodchild: boa criança. (N.T.)
8 Idle: ocioso, preguiçoso; fútil. (N.T.) 9 Bay window é um tipo de janela que se projeta para fora do edifício. Foi muito popular na arquitetura vitoriana. (N.T.)
VISITA PARA O SR. TESTANTE
O sr. Testante alugou um conjunto de cômodos na Hospedaria Lyons quando tinha pouquíssima mobília para o seu quarto de dormir e nenhuma para sua sala de estar. Tinha vivido alguns meses de inverno nessas condições e achava os aposentos muito vazios e gelados. Certa ocasião, depois da meia-noite, quando estava sentado, escrevendo, e havia ainda alguns escritos a fazer antes de ir para a cama, percebeu que o carvão tinha acabado. Ele guardava carvão no andar bem de baixo, mas nunca fora até o cubículo que era o seu depósito particular. Entretanto, a chave estava em cima da lareira e, se descesse e abrisse o depósito que aceitasse aquela chave, ele poderia, de modo justo, presumir que o carvão daquele depósito era o seu. Quanto à sua lavadeira, ela morava entre as carroças de carvão e os barqueiros do Tâmisa – pois havia barqueiros no Tâmisa naquela época –, em algum desconhecido buraco de ratos às margens do rio, descendo ruas e ruelas, no outro lado da Strand.10 Quanto a qualquer outra pessoa que pudesse encontrá-lo ali ou impedi-lo de pegar seu carvão, a Hospedaria Lyons estava sonhando, bêbada, lamuriante, taciturna, na jogatina, preocupada com a renovação ou o adiamento de dívidas – dormindo ou acordada, absorta em seus próprios assuntos. O sr. Testante pegou o seu balde de carvão numa das mãos, a vela e a chave na outra, e desceu aos redutos mais deprimentes do subterrâneo da Hospedaria Lyons, ali onde as carruagens retardatárias, nas ruas, ecoavam como trovões, e todos os canos d’água da vizinhança pareciam ter o Amém de Macbeth atravessado em suas gargantas, tentando ser pronunciado. Depois de tatear aqui e ali entre as portinhas baixas sem nenhum resultado, o sr. Testante chegou, afinal, diante de uma porta com um cadeado coberto de ferrugem, no qual a sua chave encaixou. Depois de muito esforço, abriu a porta e, olhando ali dentro, não encontrou carvão algum, mas uma confusa pilha de móveis. Alarmado por sua intrusão na propriedade de outro homem, trancou a porta de novo, encontrou seu próprio depósito, encheu o balde e subiu a escada de volta. Mas a mobília que ele tinha visto ficou girando e girando, sem parar, na mente do sr. Testante, quando, na friagem das cinco horas da madrugada, ele foi para a cama. Ele queria em especial uma mesa onde pudesse escrever, e uma escrivaninha era o móvel que estava bem à vista naquela pilha. Quando sua lavadeira emergiu de sua toca de manhã para colocar água na chaleira e a chaleira no fogo, ele conduziu a conversa com muita habilidade para o assunto dos depósitos e da mobília, mas era óbvio que as duas ideias não tinham conexão na mente dela. Quando ela o deixou e ele se sentou para o desjejum, pensando na mobília, lembrou da ferrugem do cadeado e deduziu que a mobília devia estar guardada no porão havia muito tempo – talvez esquecida –, o proprietário morto, talvez? Depois de pensar a respeito disso por uns dias, durante os quais não conseguiu arrancar nada da Hospedaria Lyons sobre aquela mobília, viu-se desesperado e resolveu pegar a escrivaninha emprestada. E foi o que fez naquela noite. Não fazia muito que ele estava com a escrivaninha quando se decidiu a pegar emprestada uma poltrona; não fazia muito que ele estava com a poltrona quando se decidiu a pegar emprestada uma estante de livros; depois, um sofá; daí, um tapete e um cobertor. Àquelas alturas, ele sentiu que estava “tão afundado na mobília” que não ia ficar pior se pegasse toda ela emprestada. Consequentemente, pegou toda ela emprestada e trancou o depósito do porão em definitivo. Sempre chaveara o depósito depois de cada visita. Havia levado para cima todas as peças, uma a uma, sempre na calada da noite e, na descrição mais generosa, sentira-se tão perverso quanto um ladrão de cadáveres no cemitério.11 Todas as peças estavam esverdeadas e penugentas quando ele as levou para dentro de seus aposentos, e ele precisou dar-lhes polimento, de um jeito criminoso e culpado, enquanto Londres dormia. O sr. Testante morou em seu apartamento mobiliado por dois ou três anos ou mais e gradualmente foi se deixando convencer de que a mobília era sua. Esse era o seu conveniente estado de espírito quando uma certa noite, a uma hora bastante adiantada, passos subiram a escada e mãos tatearam a sua porta procurando pela aldrava, e então uma única batida, seca e solene, ressoou, e aquela batida podia muito bem ter sido uma mola que rebentou na poltrona do sr. Testante, tal a rapidez com que ele, em resposta, pulou da poltrona. Com uma vela na mão, o sr. Testante foi até a porta e lá encontrou um homem muito alto e muito pálido; um homem inclinado para a frente; um homem com ombros muito altos, peito muito estreito e nariz muito vermelho; um homem pobre com a elegância de um nobre. Apresentou-se envolto num sobretudo preto, longo e puído, fechado na frente com mais alfinetes do que botões, e trazia sob o braço um guarda-chuva sem cabo, como se estivesse tocando uma gaita de foles. Disse: – Peço desculpas, mas o senhor pode me dizer... – e calou-se, seu olhar parado em algum objeto ali dentro do cômodo. – Posso lhe dizer o quê? – perguntou o sr. Testante, notando aquela interrupção da fala do homem com certo alarme. – Peço desculpas – disse o estranho –, mas... e esta não é a pergunta que eu ia fazer... será que estou realmente vendo aí dentro um pequeno objeto de minha propriedade? O sr. Testante estava começando a gaguejar, explicando que não estava ciente... quando o visitante passou por ele, esgueirando-se para dentro da sala. Ali, de um modo maligno que fez gelar o sr. Testante até a medula, ele examinou primeiro a escrivaninha e disse “Minha”; depois, a poltrona, e disse “Minha”, daí, a estante de livros, e disse “Minha”; em seguida, ergueu uma ponta do tapete e disse “Meu”! Com uma palavra, inspecionou cada item da mobília que viera do depósito, um a um, e dizia “Meu” ou “Minha”, conforme o caso. Mais para o fim dessa investigação, o sr. Testante percebeu que o homem estava encharcado em muita bebida, e a bebida era gim. Ele não estava vacilante com o gim, nem na fala nem no andar, mas estava duro de bêbado nesses dois aspectos. O sr. Testante viu-se apavorado (de acordo com sua própria versão da história), pois as possíveis consequências do que ele tinha feito de modo imprudente e irresponsável pipocavam-lhe na mente, em sua totalidade, pela primeira vez. Quando pararam de encarar um ao outro por um intervalo de tempo, o sr. Testante dirigiu-se ao homem, a voz trêmula: – Meu senhor, estou consciente de que lhe devo uma explicação detalhada, uma compensação e a total restituição de seus bens. O senhor terá sua mobília de volta. Permita-me um pedido: sem perder a calma, sem ao menos uma irritação natural de sua parte, que nós possamos ter dois dedinhos de... – Bebida – interrompeu o estranho. – Eu sou bem fácil de agradar! O sr. Testante pretendia dizer “dois dedinhos de prosa”, mas, com grande alívio, acolheu a correção. Pegou uma garrafa de gim e estava se apressando em arranjar água quente e açúcar quando percebeu que o seu visitante já havia bebido metade do conteúdo da garrafa. Com água quente e açúcar o visitante bebeu o resto, e não fazia uma hora que ele estava no aposento, de acordo com a batida dos carrilhões da Igreja Santa Maria na Strand; e, no processo de beber, ele volta e meia sussurrava cochichava várias vezes para si mesmo: “Meu”; “Minha”. O gim acabou, e o sr. Testante perguntava a si mesmo o que viria a seguir quando o visitante se levantou e disse, cada vez mais duro: – A que hora da manhã, senhor, seria conveniente? O sr. Testante arriscou-se: – Às dez? – Meu senhor – disse o visitante –, às dez em ponto vou estar aqui. Então levou algum tempo observando o sr. Testante, para depois dizer: – Que Deus o abençoe! E como vai a sua esposa? O sr. Testante (que jamais fora casado) respondeu, colocando emoção na voz: – Sofre de profunda ansiedade, pobre alma, mas, fora isso, vai bem. A essa resposta, o visitante virou-se e saiu e caiu duas vezes enquanto descia a escada. Depois disso, nunca mais se ouviu falar dele. Se foi um fantasma ou se foi uma ilusão fantasmagórica da consciência ou se foi um bêbado que não devia estar naquele lugar naquela hora ou se foi o proprietário legal da mobília, bêbado, num vislumbre transitório de memória, nunca mais se ouviu falar dele. Se chegou em casa a salvo ou se não tinha casa para onde ir, se morreu de bêbado no meio do caminho ou se viveu para sempre bêbado depois disso, nunca mais se ouviu falar dele. Essa foi a história que recebi (junto com a mobília e sustentada como verdadeira) do segundo inquilino de um conjunto de cômodos de um dos pisos superiores da sinistra Hospedaria Lyons.
10 The Strand – à margem do Tamisa, esta faixa de um pouco mais de 1km entre a City (coração financeiro de Londres) e Westminster (o parlamento inglês) era originalmente uma passagem onde era possível transitar a cavalo. No fim do século XVI, pequenos escritórios, residências e lojas começaram a aparecer na área. (N.T.)
11 À época de Dickens, cadáveres eram roubados de cemitérios e ilegalmente vendidos para o estudo da anatomia humana. (N.T.)
O sr. Testante alugou um conjunto de cômodos na Hospedaria Lyons quando tinha pouquíssima mobília para o seu quarto de dormir e nenhuma para sua sala de estar. Tinha vivido alguns meses de inverno nessas condições e achava os aposentos muito vazios e gelados. Certa ocasião, depois da meia-noite, quando estava sentado, escrevendo, e havia ainda alguns escritos a fazer antes de ir para a cama, percebeu que o carvão tinha acabado. Ele guardava carvão no andar bem de baixo, mas nunca fora até o cubículo que era o seu depósito particular. Entretanto, a chave estava em cima da lareira e, se descesse e abrisse o depósito que aceitasse aquela chave, ele poderia, de modo justo, presumir que o carvão daquele depósito era o seu. Quanto à sua lavadeira, ela morava entre as carroças de carvão e os barqueiros do Tâmisa – pois havia barqueiros no Tâmisa naquela época –, em algum desconhecido buraco de ratos às margens do rio, descendo ruas e ruelas, no outro lado da Strand.10 Quanto a qualquer outra pessoa que pudesse encontrá-lo ali ou impedi-lo de pegar seu carvão, a Hospedaria Lyons estava sonhando, bêbada, lamuriante, taciturna, na jogatina, preocupada com a renovação ou o adiamento de dívidas – dormindo ou acordada, absorta em seus próprios assuntos. O sr. Testante pegou o seu balde de carvão numa das mãos, a vela e a chave na outra, e desceu aos redutos mais deprimentes do subterrâneo da Hospedaria Lyons, ali onde as carruagens retardatárias, nas ruas, ecoavam como trovões, e todos os canos d’água da vizinhança pareciam ter o Amém de Macbeth atravessado em suas gargantas, tentando ser pronunciado. Depois de tatear aqui e ali entre as portinhas baixas sem nenhum resultado, o sr. Testante chegou, afinal, diante de uma porta com um cadeado coberto de ferrugem, no qual a sua chave encaixou. Depois de muito esforço, abriu a porta e, olhando ali dentro, não encontrou carvão algum, mas uma confusa pilha de móveis. Alarmado por sua intrusão na propriedade de outro homem, trancou a porta de novo, encontrou seu próprio depósito, encheu o balde e subiu a escada de volta. Mas a mobília que ele tinha visto ficou girando e girando, sem parar, na mente do sr. Testante, quando, na friagem das cinco horas da madrugada, ele foi para a cama. Ele queria em especial uma mesa onde pudesse escrever, e uma escrivaninha era o móvel que estava bem à vista naquela pilha. Quando sua lavadeira emergiu de sua toca de manhã para colocar água na chaleira e a chaleira no fogo, ele conduziu a conversa com muita habilidade para o assunto dos depósitos e da mobília, mas era óbvio que as duas ideias não tinham conexão na mente dela. Quando ela o deixou e ele se sentou para o desjejum, pensando na mobília, lembrou da ferrugem do cadeado e deduziu que a mobília devia estar guardada no porão havia muito tempo – talvez esquecida –, o proprietário morto, talvez? Depois de pensar a respeito disso por uns dias, durante os quais não conseguiu arrancar nada da Hospedaria Lyons sobre aquela mobília, viu-se desesperado e resolveu pegar a escrivaninha emprestada. E foi o que fez naquela noite. Não fazia muito que ele estava com a escrivaninha quando se decidiu a pegar emprestada uma poltrona; não fazia muito que ele estava com a poltrona quando se decidiu a pegar emprestada uma estante de livros; depois, um sofá; daí, um tapete e um cobertor. Àquelas alturas, ele sentiu que estava “tão afundado na mobília” que não ia ficar pior se pegasse toda ela emprestada. Consequentemente, pegou toda ela emprestada e trancou o depósito do porão em definitivo. Sempre chaveara o depósito depois de cada visita. Havia levado para cima todas as peças, uma a uma, sempre na calada da noite e, na descrição mais generosa, sentira-se tão perverso quanto um ladrão de cadáveres no cemitério.11 Todas as peças estavam esverdeadas e penugentas quando ele as levou para dentro de seus aposentos, e ele precisou dar-lhes polimento, de um jeito criminoso e culpado, enquanto Londres dormia. O sr. Testante morou em seu apartamento mobiliado por dois ou três anos ou mais e gradualmente foi se deixando convencer de que a mobília era sua. Esse era o seu conveniente estado de espírito quando uma certa noite, a uma hora bastante adiantada, passos subiram a escada e mãos tatearam a sua porta procurando pela aldrava, e então uma única batida, seca e solene, ressoou, e aquela batida podia muito bem ter sido uma mola que rebentou na poltrona do sr. Testante, tal a rapidez com que ele, em resposta, pulou da poltrona. Com uma vela na mão, o sr. Testante foi até a porta e lá encontrou um homem muito alto e muito pálido; um homem inclinado para a frente; um homem com ombros muito altos, peito muito estreito e nariz muito vermelho; um homem pobre com a elegância de um nobre. Apresentou-se envolto num sobretudo preto, longo e puído, fechado na frente com mais alfinetes do que botões, e trazia sob o braço um guarda-chuva sem cabo, como se estivesse tocando uma gaita de foles. Disse: – Peço desculpas, mas o senhor pode me dizer... – e calou-se, seu olhar parado em algum objeto ali dentro do cômodo. – Posso lhe dizer o quê? – perguntou o sr. Testante, notando aquela interrupção da fala do homem com certo alarme. – Peço desculpas – disse o estranho –, mas... e esta não é a pergunta que eu ia fazer... será que estou realmente vendo aí dentro um pequeno objeto de minha propriedade? O sr. Testante estava começando a gaguejar, explicando que não estava ciente... quando o visitante passou por ele, esgueirando-se para dentro da sala. Ali, de um modo maligno que fez gelar o sr. Testante até a medula, ele examinou primeiro a escrivaninha e disse “Minha”; depois, a poltrona, e disse “Minha”, daí, a estante de livros, e disse “Minha”; em seguida, ergueu uma ponta do tapete e disse “Meu”! Com uma palavra, inspecionou cada item da mobília que viera do depósito, um a um, e dizia “Meu” ou “Minha”, conforme o caso. Mais para o fim dessa investigação, o sr. Testante percebeu que o homem estava encharcado em muita bebida, e a bebida era gim. Ele não estava vacilante com o gim, nem na fala nem no andar, mas estava duro de bêbado nesses dois aspectos. O sr. Testante viu-se apavorado (de acordo com sua própria versão da história), pois as possíveis consequências do que ele tinha feito de modo imprudente e irresponsável pipocavam-lhe na mente, em sua totalidade, pela primeira vez. Quando pararam de encarar um ao outro por um intervalo de tempo, o sr. Testante dirigiu-se ao homem, a voz trêmula: – Meu senhor, estou consciente de que lhe devo uma explicação detalhada, uma compensação e a total restituição de seus bens. O senhor terá sua mobília de volta. Permita-me um pedido: sem perder a calma, sem ao menos uma irritação natural de sua parte, que nós possamos ter dois dedinhos de... – Bebida – interrompeu o estranho. – Eu sou bem fácil de agradar! O sr. Testante pretendia dizer “dois dedinhos de prosa”, mas, com grande alívio, acolheu a correção. Pegou uma garrafa de gim e estava se apressando em arranjar água quente e açúcar quando percebeu que o seu visitante já havia bebido metade do conteúdo da garrafa. Com água quente e açúcar o visitante bebeu o resto, e não fazia uma hora que ele estava no aposento, de acordo com a batida dos carrilhões da Igreja Santa Maria na Strand; e, no processo de beber, ele volta e meia sussurrava cochichava várias vezes para si mesmo: “Meu”; “Minha”. O gim acabou, e o sr. Testante perguntava a si mesmo o que viria a seguir quando o visitante se levantou e disse, cada vez mais duro: – A que hora da manhã, senhor, seria conveniente? O sr. Testante arriscou-se: – Às dez? – Meu senhor – disse o visitante –, às dez em ponto vou estar aqui. Então levou algum tempo observando o sr. Testante, para depois dizer: – Que Deus o abençoe! E como vai a sua esposa? O sr. Testante (que jamais fora casado) respondeu, colocando emoção na voz: – Sofre de profunda ansiedade, pobre alma, mas, fora isso, vai bem. A essa resposta, o visitante virou-se e saiu e caiu duas vezes enquanto descia a escada. Depois disso, nunca mais se ouviu falar dele. Se foi um fantasma ou se foi uma ilusão fantasmagórica da consciência ou se foi um bêbado que não devia estar naquele lugar naquela hora ou se foi o proprietário legal da mobília, bêbado, num vislumbre transitório de memória, nunca mais se ouviu falar dele. Se chegou em casa a salvo ou se não tinha casa para onde ir, se morreu de bêbado no meio do caminho ou se viveu para sempre bêbado depois disso, nunca mais se ouviu falar dele. Essa foi a história que recebi (junto com a mobília e sustentada como verdadeira) do segundo inquilino de um conjunto de cômodos de um dos pisos superiores da sinistra Hospedaria Lyons.
10 The Strand – à margem do Tamisa, esta faixa de um pouco mais de 1km entre a City (coração financeiro de Londres) e Westminster (o parlamento inglês) era originalmente uma passagem onde era possível transitar a cavalo. No fim do século XVI, pequenos escritórios, residências e lojas começaram a aparecer na área. (N.T.)
11 À época de Dickens, cadáveres eram roubados de cemitérios e ilegalmente vendidos para o estudo da anatomia humana. (N.T.)
Charles Dickens
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















