



Biblio "SEBO"




Aqui está mais uma fascinante seleção de contos de crime e suspense, escolhidos deliberadamente por Alfred Hitchcock para deixá-lo transido de susto.
Você vai certamente ficar fascinado pela Dama de Vermelho, como aconteceu com Frankie, a quem coisas inesperadas começaram a acontecer, depois que a conheceu, até descobrir que A SORTE NÃO É UMA DAMA. Esta história é de Robert Bloch, o consagrado autor de Psicose, que se transformou num dos filmes mais sensacionais de Alfred Hitchcock.
Vai se sentir atraído irresistivelmente — e também horrorizado — pelo aprendizado de jornalismo de Andrew Gerber, que começou num jornal de cidade pequena e descobriu da forma mais macabra possível a velha máxima jornalística de que quando é o cachorro que morde o homem, o fato não dá notícia. O inverso dá! Leia HOMEM QUE MORDE CACHORRO.
Vai experimentar as mesmas emoções profundas de Nelson Latch, pacato detetive de uma loja de departamentos, que involuntariamente foi obrigado a se transformar em O VOYEUR, o que lhe alterou toda a vida e levou-o a um destino imprevisível.
Vai se angustiar com Ann Griffith, cujo pai fora condenado por ter matado um homem e que se desesperava com o pavor de que o gene lhe tivesse sido legado. É o conto HOMICÍDIO É DOMINANTE.
Vai se amargurar e desesperar junto com Dan Kellogg e Susan Hanson, pairando à beira da eternidade, para descobrirem por fim que tinham algo em comum, até encontrarem O VINCULO.
São contos que vão fasciná-lo, seduzi-lo, deixá-lo arrepiado de emoção. São HISTÓRIAS MACABRAS especialmente selecionadas pelo mestre supremo do suspense, o genial inglês Alfred Hitchcock.
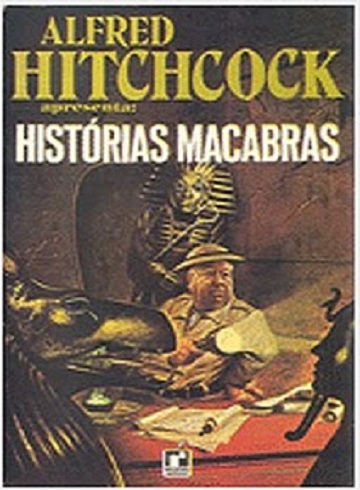
UMA GARRAFA DE VINHO - Borden Deal
O Juiz sentou numa poltrona de onde podia avistar a porta da frente. Estava esperando. Sua mulher lhe telefonara 15 minutos antes e ele sabia que a qualquer momento, nos próximos dez minutos, tornaria a vê-la. Estava tenso, rígido, como se estivesse sentado em seu tribunal, no centro da cidade. A mente estava tão paralisada quanto o rosto.
O Juiz era um homem grande. O corpo imenso aumentava a imponência de seu aspecto solene, o rosto vincado e grave intimidava qualquer aproximação humana. Os cabelos eram brancos, não totalmente, mas grisalhos, com muitos fios pretos no alto da cabeça. Não estavam mais brancos do que no dia em que casara com a mulher que agora esperava.
A casa estava silenciosa ao seu redor. Era uma casa branca, de dois andares, afastada da rua, em meio a árvores antigas. Era velha e confortável, como a poltrona em que ele estava sentado, o estofamento desbotado, o pano puído sobre a madeira, nos lados. Era uma casa que estava naquela terra há muito tempo, pois fora construída e mobiliada por seu pai, o antigo juiz.
Ele ouviu o barulho de um motor. Não se mexeu, mas ficou ainda mais rígido. A mente acompanhou o barulho do motor até a parada ao lado da casa, escutou o soar dos saltos altos na varanda, sentiu a maçaneta virar sem a menor hesitação. Eu sabia que ela voltaria, pensou ele. Sabia que tornaria a vê-la mais uma vez. Apenas mais uma vez. A porta estava aberta e ela o fitava.
— Olá, Juiz.
Ele analisou cuidadosamente a voz dela. Não estava tensa. Mas também não era sua voz jovial e despreocupada. Era apenas um veículo para palavras neutras.
— Olá, Grace.
Ele se perguntou como a sua própria voz soaria. Não conseguiu determinar. Ficou observando o rosto dela, procurando pelo efeito. Mas nada pôde perceber. O rosto exibia apenas a expressão afável com que ela se apresentava em festas e reuniões de comitês femininos, uma expressão sempre fixa, como se estivesse espalhado pelas feições o mesmo preparado de fixação que usava nos cabelos.
Sei agora, finalmente, com toda certeza, que você não passa de uma vigarista, pensou ele. Tenho desconfiado por quase todos os anos de nosso casamento. Mas, agora, sei com certeza. E também vaidosa... pois não podia ir embora para sempre sem levar todas as roupas caras que estavam nos armários lá em cima. Vaidosa e pragmática, torturando um homem por uns poucos trapos de panos coloridos.
— Vim buscar minhas roupas — disse ela, a voz ainda neutra como os raios do sol. — Espero que não se importe.
— Então você está de partida. Vai mesmo embora, no final das contas.
Ela aproximou-se dele, pondo um pé no primeiro degrau da escada.
— Claro que vou. E você sabe disso. Já lhe falei há uma semana. — Ela fez uma pausa, observando-o, para depois acrescentar: — Vou buscar as roupas. Não demorarei muito e depois...
— Seu amigo... onde ele está? Esperando em algum motel? Ela pôs-se a subir, largando as palavras neutras e destituídas de emoção pela escada abaixo, quase que com indiferença:
— Está esperando no carro. Eu precisava de alguém para me ajudar com a bagagem.
O Juiz ficou novamente sozinho. Nunca imaginei que ela fosse capaz disso, pensou consigo mesmo, angustiado. Ele se levantou, suspendeu a parte de trás do paletó claro de linho, que usava até mesmo em pleno calor do verão. Tirou a pistola 38 do bolso traseiro da calça. Contemplou-a por um momento, pensativo. Tornou a guardá-la no bolso e encaminhou-se para a porta.
Quando a abriu, o calor exterior arremeteu para cima dele, atingindo-o no rosto como uma bofetada. Pensou no sol a tostar as ruas de concreto no centro da cidade e sentiu o suor porejar na testa, em pequenas gotas.
Foi até a extremidade da varanda e olhou para o homem ainda jovem sentado no carro. O rosto do homem virou-se em sua direção, num súbito sobressalto. O Juiz observou, clinicamente, que ele era muito bem-apessoado e provavelmente mais moço do que Grace.
Ele desceu os degraus e inclinou-se sobre a janela do carro, olhando para dentro.
— Sou o marido de Grace — disse ele, desnecessariamente. — Você deve ser Wallace.
O Juiz estudou a cautela insinuar-se pelo rosto jovem e liso, esperou pacientemente que se desvanecesse, que Wallace chegasse à conclusão de que não havia o perigo de violência ou palavras ásperas. Não deve ter sido fácil para ele vir até aqui, pensou O Juiz.
— Entre e espere dentro da casa. O calor vai acabar por matá-lo, se continuar sentado aqui no carro.
O homem hesitou por um instante, mas depois abriu a porta e saiu. Era esguio e bronzeado. Em contraste com a palidez vincada do Juiz, parecia muito jovem. Grace escolheu bem, pensou O Juiz, sem a menor relutância. Fico imaginando se ele também tem dinheiro. Deve ter.
Wallace contornou o carro pela frente e aproximou-se, os olhos estudando atentamente O Juiz.
— Sinto muito, senhor. Não queria vir...
— Mas Grace precisava de alguém para ajudar com a bagagem. — A voz do Juiz era extremamente suave. — Não se pode esperar que uma mulher carregue bagagem com este calor. E eu sou um velho...
Ele pegou Wallace pelo braço e conduziu-o para a casa, discorrendo sobre as paredes grossas que proporcionavam isolamento contra o sol, como o interior era agradável no verão, embora fosse difícil de esquentar no inverno. Mencionou como eram finas as paredes das casas modernas, como exigiam aparelhos de ar condicionado para que pudessem se tornar habitáveis naquela região tão ao sul.
— Mas continuam a construir as casas assim — comentou ele, pensativo. — Penso às vezes que não existe nada tão teimoso e ganancioso como a indústria de construção civil. Absolutamente nada.
Encontravam-se agora na sala de estar, sem que Wallace tivesse a oportunidade de dizer qualquer coisa, sob o incessante fluxo de palavras do Juiz. Estava bem mais fresco ali dentro. O Juiz pôde sentir o suor momentâneo evaporar, arejando a camisa sob o paletó de linho. Sentiu frio por um instante, até que o corpo ajustou-se à mudança de temperatura.
— Sente-se, Wallace. Voltarei num instante.
O Juiz foi para a cozinha, deixando Wallace sozinho. Antes de descer para o porão, parou por um momento junto da escada dos fundos, escutando. Mas nada pôde perceber pelos movimentos de Grace. O porão também estava fresco, além de escuro. Ele teve de tatear à procura do cordão da luz, pendurado em algum ponto no meio do porão. Acabou por encontrar, seguindo então, sem a menor hesitação, para a prateleira que procurava. Pegou a garrafa que estava lá atrás, em seu cesto de vime.
Contemplou-a, sentindo a poeira e teias de aranha em suas mãos. Há dez anos que a garrafa estava ali, acumulando poeira, esperando, da mesma forma como O Juiz esperara anteriormente, lá em cima. Só que aquela garrafa não podia esperar por mais tempo. Não agora.
Ele apagou a luz e tateou na direção dos degraus. Encontrou-os finalmente com os pés a sondar, subindo outra vez para a claridade. Parou na cozinha para pegar copos e um saca-rolha, depois empurrou com o ombro a porta para a sala de estar. Virou-se e deixou a porta fechar suavemente às suas costas, olhando novamente para Wallace, ainda de pé, indeciso, no meio da sala. Como um cervo, pensou O Juiz, farejando o perigo. Jovem, esguio e pronto para correr, muito bonito em sua juventude.
— Vamos, sente-se. — O Juiz sorriu. — Conheço Grace. Vai demorar algum tempo antes que ela precise de sua ajuda. E achei que poderíamos tomar um pouco de xerez enquanto esperávamos.
Wallace não se mexeu. O Juiz ignorou-o, enquanto as mãos encarquilhadas habilmente torciam o saca-rolha, levantando a rolha apodrecida com um movimento fácil, a garrafa segura entre os seus joelhos.
Ele acomodou-se na confortável poltrona de couro e levantou os olhos para constatar que o jovem ainda não relaxara.
— Esta é uma cidade pequena, Wallace. Vivi aqui por toda a minha vida, meu pai e meu avô também viveram, antes de mim. Fui advogado aqui e também um juiz. E tenho sido O Juiz há muito tempo.
Ele fez uma pausa, baixando os olhos para a garrafa de xerez por um momento. E depois acrescentou, pensativo:
— Conheço esta cidade. Conheço o Sul. Poderia dar um tiro em você e escapar impune. Você tornou-se uma caça legal na primeira vez em que passou os braços em torno da minha mulher. Pode não saber disso, já que não é do local. Mas não poderia encontrar 12 homens entre os nossos 10 mil habitantes que condenassem um marido por atirar no amante da mulher. Espero que compreenda que isso não é a lei... apenas a vida como ela é.
Wallace não se mexeu, mas O Juiz pôde sentir que ele ficava tenso no pressentimento do perigo. Ele está com medo, um medo grande. Sou um velho assustador, pensou O Juiz, com um toque de tristeza. Nunca pensei que vivesse para me tornar um velho terrível.
— Por muito tempo, Wallace, pensei que fosse matá-lo, assim que o encontrasse. Amo minha mulher. Sou um velho com uma mulher jovem e a amo com a loucura que os jovens não conhecem. Eles conhecem o delírio, conhecem a paixão, conhecem o desejo. Mas jamais conhecem a loucura maravilhosa de um velho apaixonado pela primeira vez.
O Juiz sacudiu a cabeça.
— Não, os jovens nunca sabem. Jamais compreendem. — Ele levantou a cabeça. — Assim, eu estava certo de que daria um tiro em você.
Parou de falar, pensando por um momento. Suspirou, como se a recordação também fosse um fardo.
— Mas sou um homem da lei, um advogado e um juiz. Jamais acreditei na violência, testemunhando como gera o ódio e mais violência, julgando os resultados da violência todos os dias, em meu tribunal.
O Juiz inclinou-se e levantou cuidadosamente a velha garrafa, com as duas mãos. Inclinou-a e despejou um pouco em seu copo, apenas uma gota, para ficar com os fragmentos de cortiça. Depois, encheu o copo de Wallace. E completou o seu próprio copo.
— Sente-se — disse O Juiz, suavemente. — Este vinho é excepcional. Nunca mais tornará a provar algo igual.
Wallace mexeu-se então, aos arrancos, como uma marionete. Sentou-se e levantou o copo. O Juiz sabia que ele queria extrair coragem e segurança do copo. Wallace encheu a boca e parou de repente, sentindo a riqueza suave e antiga do vinho. Uma expressão de surpresa insinuou-se em seu rosto.
— Isso mesmo, é muito bom — disse O Juiz. — Muito antigo. Estávamos guardando para o nosso 25.° aniversário de casamento.
Wallace ficou imóvel no ato de levar o copo à boca outra vez. Havia choque em seu rosto.
— Vamos, pode beber. — Os lábios do Juiz se contraíram. — Não haverá outra ocasião melhor do que esta.
Ele recostou-se na poltrona, aninhando o copo frio entre as palmas. Girou o vinho, pensativo, olhando para o remoinho como que hipnotizado.
— Quando Grace e eu casamos, fomos passar a lua-de-mel na França. Foi... uma das condições dela. Grace nunca antes viajara ao exterior e queria muito. Atravessamos para a Espanha, na volta, comprando essa garrafa de precioso amontillado, Grace passou pela alfândega com a garrafa presa em seu corpo por esparadrapo. Sentíamos que um toque de ilícito era necessário e desejável. Planejávamos abri-la em nosso 25.° aniversário de casamento. E a guardamos até agora... guardamos por dez anos.
Wallace tornou a levantar o copo. Tomou um gole grande desta vez, depois involuntariamente um gole pequeno, sentindo toda a suavidade do vinho, saboreando as últimas gotas em seu copo. O Juiz inclinou-se para a frente, a fim de servi-lo novamente.
— Beba devagar. É um vinho que merece ser apreciado. Esperei dez anos para provar nosso vinho ilícito e pensava que fosse esperar mais 15 anos. Mas é certo que o bebamos agora, enquanto esperamos por Grace. Não acha que é certo?
— Eu não deveria ter vindo, senhor. Sei disso agora e estou...
O Juiz acenou com a mão.
— Fico contente que tenha vindo, Wally. Eu precisava de alguém para falar... e quem poderia ser melhor do que o homem que ela ama agora? Em todo o Sul, quem poderia escutar com mais atenção? E conversar é uma necessidade na velhice... pois conversar é tudo o que nos resta.
Ele parou novamente, houve silêncio na sala. Olhou para a garrafa, constatou que estava pela metade. Já se fora a metade. O vinho descia bem e o animava, ele sentia-se confortável, sentado em sua poltrona de couro habitual. Ainda havia silêncio lá em cima. Levaria muito tempo para que ela arrumasse tudo com cuidado, pensou O Juiz. E Grace arrumaria justamente assim... eficiente como sempre fora. Temos tempo para uma garrafa de vinho, pensou ele. Muito tempo.
— Eu estava com 50 anos quando conheci Grace. E por mais incrível que possa parecer, nunca antes havia me apaixonado. Não sei explicar por quê. Tinha saído com muitas garotas, dançado, até mesmo beijado, embora isso não fosse tão comum no meu tempo como agora. Mas... nunca havia amado.
Ele parou de falar, baixando os olhos para o copo, o rosto franzido. Tornou a fitar Wallace, constatou que o copo dele ainda estava cheio e continuou a falar. Sua voz espalhava-se pela sala, lenta e suave, no ar parado e fresco. Wallace estava inclinado para a frente, escutando. O Juiz percebeu que ele não estava mais com medo.
— Grace era minha secretária. Era jovem e eficiente, tão linda quanto o amanhecer e um conhaque antigo. Não conhecia a família dela, pois era gente nova na cidade. Mas em uma semana eu já estava apaixonado por ela. Antes de Grace, eu teria dito que isso era uma coisa impossível. Mas Grace era muito inteligente, além de bonita. Conhecia o relacionamento habitual entre um solteirão empedernido e sua secretária. E era algo que não admitia.
Ele fez uma pausa, antes de acrescentar, cuidadosamente:
— Eu não sabia naquela ocasião que Grace estava dormindo com um rapaz que trabalhava no prédio. Mas, mesmo que soubesse, não creio que faria muita diferença para mim.
O Juiz percebeu o choque no rosto de Wallace, viu-o começar a levantar-se.
— Não quero escutar... — murmurou Wallace, tensamente. O Juiz acenou para que ele tornasse a sentar.
— Grace não é mais assim. Ela mudou e aprendeu muito em dez anos. Oh, Deus, como ela mudou e aprendeu! E nunca foi uma vagabunda.
Houve silêncio novamente, enquanto ele pensava, recordava. Wallace estava agora recostado na poltrona, sua ira momentânea dissipada, esperando que O Juiz continuasse. Pensativo, O Juiz tomou um gole do vinho, saboreando-o intensamente.
— Foi terrível para mim. Eu a amava. E a desejava. Era um velho, ridículo e louco. Eu a queria de qualquer maneira possível. E Grace era inteligente e eficiente em se esquivar. Eu quase que rastejava, suplicando por um sorriso condescendente de seus lábios. Dei-lhe aumentos de salário, férias pagas. — Ele fez uma pausa, suspirando. — Tal situação prolongou-se por um ano. Um ano inteiro... um tempo interminavelmente longo para mim.
O Juiz tornou a pegar a garrafa e levantou-a contra a luz, contemplando o líquido âmbar a faiscar. Depois, encheu os copos novamente e prestou atenção à escada. Desta vez, ouviu um baque e um farfalhar.
— Falta pouco agora para ela ficar pronta, Wally. O problema é que Grace sabia exatamente o que queria. Casamento. Comigo... um homem de 50 anos. Mas havia dinheiro... não muito, mas o suficiente. E o bom nome. Grace era nova na cidade e eu nunca soube de onde veio sua família. Ela nunca lhe dirá. E duvido muito que ela própria ainda saiba. As mulheres podem esquecer facilmente coisas como origens e aniversários.
O Juiz fez uma pausa, pensativo.
— Idade? Não tinha importância. Duvido muito que ela algum dia me tenha encarado como um homem, com paixão no corpo. Eu era O Juiz, era Carter, era Cartersville. Ela me amava, não por mim, mas pela libertação de seu passado. E eu a amava, embora ela não tivesse a menor compaixão por meu amor.
Ele franziu o rosto.
— Deve compreender que eu não sabia disso na ocasião. Aprendi lentamente, da maneira mais difícil, ao longo dos anos. E ela ainda é capaz de negar tudo. Não vou lhe contar como acertamos o casamento... foi uma tarde em meu escritório que ainda não gosto de recordar e muito menos discutir. Ela esperou um ano inteiro, exibindo a sua feminilidade diante de mim todos os dias. E depois, implacavelmente, fechou o negócio.
O Juiz percebeu que Wallace observava-o atentamente e indagou:
— Acha difícil acreditar nisso, não é mesmo? A voz de Wallace estava indecisa:
— É diferente...
O Juiz não o deixou continuar:
— Isso mesmo, ela está diferente agora. Deve compreender que ela estava desesperada na ocasião. Tinha 25 anos e aquele escriturário continuava a ser um escriturário. Grace sabia que ela nunca passaria de um escriturário. Agora, não está mais desesperada. Já faz muito tempo que não está desesperada.
— Mas teve dez anos — disse Wallace, a voz soando bravamente no silêncio. — Pensa nela agora com amargura e raiva, mas teve dez anos para aproveitar.
— Amargura? — O Juiz sorriu. — Raiva? Ela fez um acordo e cumpriu-o integralmente. Ela foi minha, toda minha, não partilhei seu corpo com mais ninguém por vários anos. Grace deu-me o amor que meu velho coração e corpo tanto queriam, plenamente, sem reservas. Deu-me até um filho...
Wallace teve um sobressalto de surpresa. Era evidente que Grace não lhe dera tal informação.
— Não sabia que ela teve um filho? Mas teve. O nome dele é Bobby. Está agora num colégio interno. Eu queria um filho e o tivemos, embora Grace insistisse numa cesariana. Apenas um filho. E agora eu estou com 60 anos e Grace está indo embora.
— Eu a amo — declarou Wallace. — Pode não compreender ou acreditar, mas eu a amo como...
— Claro, claro... Grace é uma mulher e tanto e sabe usar todos os seus recursos. Eu sabia que você a amava. E não é o primeiro.
O Juiz parou novamente, olhando para a garrafa. Desta vez, Wallace estendeu-lhe o copo, sem esperar por um convite.
— Só resta o suficiente para mais um copo — disse O Juiz. — Ela já deve ter terminado até acabarmos. Beba devagar, pois não existe outro vinho como este. Não existe absolutamente qualquer outro vinho assim.
Ele serviu solenemente, o rosto moreno e vincado inclinado para os copos. Ambos estavam inclinados para a frente, observando o líquido fluir, tornar-se deslumbrante nos copos. O Juiz recostou-se e levantou o copo.
— Grace começou a desgarrar-se há dois anos. Eu estava então com 58 anos. Percebi que estava para acontecer e não havia meio de impedir. Sabia que haveria um desenlace quando ela encontrasse o homem certo. Eu estava à sua espera, Wally.
Ele fitou-o por cima do copo, acrescentando:
— Fico imaginando o que você tem que ela quer, Wally... Wallace observava-o, o copo imóvel em sua mão. O rosto bonito estava tão imóvel quanto a mão, os olhos fixados no Juiz. Não sabia exatamente o que dizer. E por isso não disse nada, limitando-se a esperar que O Juiz continuasse.
— E creio que sei. — O Juiz riu, um som inesperado na sala fresca e tranqüila. — É a juventude, Wally. Ela quer a sua juventude, assim como eu quis a juventude dela, há tanto tempo. Quantos anos você tem, Wallace? Grace está com 35 anos.
Wally mexeu-se. O Juiz sabia que suas palavras haviam-no atingido em cheio.
— Eu a amo, senhor. Sabe disso. Eu a amo. Tudo o que eu tiver, darei a ela. Juventude, dinheiro ou...
— Sei disso, Wally, sei que dará qualquer coisa a Grace — falou O Juiz, suavemente.
Wally empertigou o corpo jovem.
— Estou satisfeito agora por ter vindo. E satisfeito por ter lhe falado. Estava com medo. Qualquer homem ficaria, numa situação como esta. Não fisicamente, é claro, mas receando alguma cena desagradável. Mas agora que vi como é um homem sensato, como está encarando o problema de uma maneira inteligente...
O Juiz escutou as palavras hesitantes de Wallace com um espírito crítico. O vinho bebido tão depressa estava sendo forte para Wallace. Mas O Juiz não sentia absolutamente qualquer coisa. E disse:
— Não precisa dizer o resto. Sei onde está querendo chegar. Quer dizer que precisávamos mesmo tomar juntos uma garrafa de vinho. — Ele levantou o copo e bebeu. — Vamos, beba também. Restam algumas gotas... apenas algumas gotas de vinho ilícito, depois de dez anos.
Wallace levantou o copo e bebeu. Enquanto ele o fazia, O Juiz mudou a posição do corpo na poltrona, deixando livre a pistola 38 no bolso de trás da calça. Ele atirou em Wallace na cabeça, no momento em que o outro baixava o copo, vazio. Houve uma surpresa momentânea no rosto de Wallace ao impacto da bala, uma surpresa aturdida ao fitar O Juiz. E depois ele tombou para a frente, caindo sobre o tapete velho e gasto, entre as duas poltronas.
O Juiz também ficou surpreso. Não acreditava que fosse atirar até o último momento, até ver a última gota do vinho antigo desaparecer pela garganta do homem mais moço.
O tiro único ressoou terrivelmente pela casa antiga. O som espalhou-se por toda parte, como o grito de um bebê. O Juiz sabia que Grace ouvira. Ele levantou-se e pegou a garrafa de vinho com a mão esquerda, ainda empunhando a arma com a outra mão.
Encaminhou-se para a escada, ouvindo o correr histérico dos passos dela pelo corredor. Levantou os olhos e contemplou lá em cima o rosto de Grace, pálido, apavorado. Mesmo na semi-escuridão da escada, ele podia divisar as rugas no rosto abalado. Isso mesmo, pensou o Juiz, ela demonstra agora seus 35 anos.
— Juiz! — gritou Grace, estridentemente. O verniz desaparecera agora, já não existia mais a suavidade com que ela se envolvia. — Juiz! O que você fez?
— Acabamos com aquela garrafa de vinho velha que estávamos guardando, Grace. Nós dois tomamos tudo.
Ele largou a pistola quente da mão direita. Ela caiu no chão, com um baque. Fitou os olhos de Grace por um momento. Virou-se em seguida, encaminhando-se para o telefone no vestíbulo.
Enquanto fazia a ligação, O Juiz ainda segurava a garrafa com a outra mão. Estava vazia agora, era uma garrafa comum, apenas vidro, sem a magia do vinho velho que antes contivera.
A PONTE DE VIDRO - Robert Arthur
Estávamos conversando sobre crimes insolúveis, o Barão de Hirsch, o Tenente Oliver Baynes, da Polícia Estadual, e eu. Isto é, De Hirsch estava discorrendo a respeito. Baynes e eu podíamos apenas escutar, enquanto o húngaro alto, de nariz aquilino, com uma dedução espetacular e uma lógica implacável, resolvia meia dúzia de casos famosos que permanecem nos arquivos de diversos departamentos de polícia, ainda marcados com a indicação Em aberto.
De Hirsch pode ser um companheiro extremamente irritante. Sua presunção é colossal e a apreciação da própria inteligência indisfarçável. Sempre me sinto tentado a indagar por que, sendo ele tão esperto, seus sapatos invariavelmente precisam de conserto e as roupas de remendos. Mas sempre resisto à tentação.
Percebi que Oliver Baynes estava ficando impaciente. Baynes é baixo e atarracado, de cara vermelha, fala macia, meio apagado. Mas é um bom policial... um dos melhores.
Ele esvaziou seu copo de cerveja... era uma tarde quente de agosto... e fitou-me, ao estender a mão para pegar outra lata.
— Peça ao seu amigo para resolver o caso da chantagista loura para nós — disse ele, o sarcasmo no comentário oculto por um semblante completamente impassível.
De Hirsch parou prontamente. Os olhos pretos brilharam, as narinas tremeram. E ele repetiu, suavemente, polidamente:
— O caso da chantagista loura?
— O nome dela era Marianne Montrose. — Baynes usou o abridor de lata, espirrando espuma na manga. — No dia 13 de fevereiro, entre três e quatro horas da tarde, ela subiu os 33 degraus cobertos de neve para uma casa no topo de uma colina, a cerca de 50 quilômetros daqui. Entrou naquela casa e nunca mais tornou a sair.
Baynes despejou a cerveja e tomou um gole, ruidosamente.
— Mais tarde, revistamos a casa e ela não estava lá. Havia uma camada de meio metro de neve em torno de toda a casa. E não havia qualquer sinal para indicar que ela fora levada da casa por algum meio. Além disso, o dono e único residente da casa é um homem que sofre do coração e pode morrer com qualquer esforço maior. Assim, ele não a carregou para fora da casa, não cavou um buraco e enterrou-a ou qualquer outra coisa no gênero. Mas ela não estava na casa. Contudo, viram-na entrar, seus passos estavam assinalados na neve que cobria os degraus. Marianne Montrose subiu até a casa e nunca mais desceu. Você poderia explicar-nos o que aconteceu com ela.
Os olhos de De Hirsch estavam fixados firmemente em Baynes.
— Dê-me todos os fatos e encontrarei a explicação.
Ele não disse simplesmente que tentaria, mas sim que o faria.
— Vou pegar minhas anotações — declarei, irritado. — Será ótimo conhecer a verdade. Além disso, terei outra boa história para escrever um artigo.
Baynes tomou outro gole de cerveja, sem dizer nada. Parecia apenas sonolento. De Hirsch serviu-se de outra generosa dose de conhaque... meu conhaque, pois estávamos reunidos em meu chalé de verão. Fui aos meus arquivos e voltei com a pasta sobre Marianne Montrose. Era bastante completa. Como um autor de histórias de crimes para as revistas populares, eu mantinha anotações detalhadas e recortes sobre todos os casos que relatava. Já escrevera um artigo sobre aquele caso, dando-lhe o tratamento de O Grande Ponto de Interrogação ou O Que Aconteceu com a Linda Marianne?
— Por onde você quer começar? — perguntei. — Tenho aqui o depoimento do jovem Danny Gresham, a última pessoa que falou com Marianne antes de ela subir para a casa e desaparecer.
De Hirsch recusou-se a pegar o depoimento datilografado e disse, com a sua polidez habitual:
— Leia para mim.
Oliver Baynes deixou escapar um estranho ruído pelas narinas. Podia ser uma risada reprimida. Lancei-lhe um olhar furioso e comecei a ler:
Morgan's Gap, 3 de fevereiro. Do depoimento de Daniel Gresham, de 19 anos.
Eu estava nos escritórios do Morgan's Gap Weekly Sentinel, lendo provas. Eram três e meia. A temperatura lá fora estava uns 14 ou 12°C abaixo de zero. Era um dia revigorante. Pensei em ligar para a minha garota, Dolly Hansome, marcando um encontro para esquiarmos. A neve estava profunda, com uma boa crosta sólida e mais alguma neve recente por cima. Enquanto eu pensava em Dolly, um cupê azul sensacional parou lá fora.
Uma garota estava ao volante. Ela parecia um pouco com Dolly Hansome, só que era mais alta e mais desenvolvida... mais mulher, para ser franco. Tinha os cabelos louros compridos, sob uma touca vermelha, usava um blusão de esquiar também vermelho. Saltou do carro e ficou olhando através do vale para a casa de Mr. Mark Hillyer, o escritor de histórias de mistério. Ninho de Águia, é como Mr. Hillyer chama sua casa. E é um nome dos mais apropriados, pois a casa fica empoleirada, isolada, lá no alto da colina.
Pode-se pensar que é um lugar esquisito para um homem com problema de coração viver sozinho. No verão, pode-se dar a volta e subir de carro até os fundos da casa, onde fica o terraço. No inverno, porém, a prefeitura só limpa a estrada até os degraus que ficam na frente.
Isso significa que Mr. Hillyer nunca sai de casa depois que cai a primeira nevasca grande. Mas ele não parece se importar. No outono, ele se abastece com três mil galões de óleo combustível e um grande estoque de alimentos enlatados. E fica pronto para enfrentar o inverno. Todos os dias, a Sra. Hoff sobe até lá em cima para cozinhar e limpar. Ela não se importa com os degraus, da mesma forma que seu cunhado, Sam. Ele é que limpa os degraus e o terraço no lado norte da casa.
Mr. Hillyer gosta de ficar sozinho. Não gosta muito das pessoas. É um homem alto e magro, com um rosto comprido e desapontado, uma maneira ríspida de dizer as coisas. Escreveu 12 livros de mistério e guarda uma porção de recortes e críticas. Sente-se especialmente orgulhoso das críticas que destacam como são hábeis os seus enredos. Mas há cinco anos que ele não escreve nenhum livro. Acho que ele se sente desanimado porque os outros não venderam muito bem.
Ah, sim, a garota...
Ela ficou parada ali, olhando para a casa, depois virou-se e entrou no escritório. Levantei-me imediatamente para atendê-la. Ela sorriu e disse olá. A voz era baixa e rouca, do tipo que deixa a gente excitado, se entendem o que estou querendo dizer. Perguntou-me se eu era o editor e respondi que era o assistente. Perguntou em seguida se podia usar o telefone. Disse que sim, claro, certamente, estendendo-lhe o telefone. Ela pediu o número de Mark Hillyer. Não pude deixar de ouvir o que disse. Claro que me lembro das palavras. Isto é, mais ou menos.
— Olá, Mark — disse ela, com uma voz diferente agora. — Aqui é Marianne. Estou telefonando da aldeia. Tenho certeza de que está à minha espera. E mais uma coisa, Mark querido, caso você tenha alguma idéia exótica nesse seu cérebro tão esperto: eles sabem aqui no escritório do jornal que estou subindo para vê-lo. Estarei aí dentro de dez minutos.
Ela desligou e sorriu-me, sua voz voltando a ser como antes, ao dizer-me:
— Mark Hillyer não gosta de mim. E é um homem muito esperto. Acho que ele me mataria, se tivesse a certeza de escapar impune. Mas acontece que não pode. De qualquer forma, se eu não voltar aqui dentro de uma hora, pode fazer o favor de mandar a polícia até lá para me procurar? Passarei por aqui na volta, apenas para dizer-lhe que estou bem.
Ela sorriu de novo. Claro que respondi que estava bem, não havia o menor problema, chamaria o guarda Redman para ir procurá-la. Eu me sentia extremamente emocionado. Parecia até uma cena saída de um dos livros de Mr. Hillyer. Claro que não pensei que ela estivesse realmente falando sério. Mas quando ela se afastou no carro, fui até a janela e fiquei observando-a.
Um minuto depois, o carro estava subindo pela estrada que leva ao Ninho da Águia de Mr. Hillyer. Uma porção de garotos se divertia na parte inferior da ladeira, com encostas, trenós e essas conchas novas de alumínio, deslizando por toda parte. Pensei novamente em ligar para Dolly, mas por algum motivo já não me sentia tão interessado quanto uns poucos minutos antes.
Avistei o conversível fazer a curva antes dos degraus diante da casa de Hillyer. O trator de neve chega até lá. A garota parou o carro e saltou. Começou a subir os degraus. Vi-a chegar à pequena varanda na frente da casa. A porta se abriu. Ela entrou e a porta fechou.
Fiquei de olho na casa de Mr. Hillyer durante o resto da tarde, enquanto trabalhava, até o escurecer. Mas a garota nunca mais tornou a sair.
Fim do depoimento de Daniel Gresham.
Morgan's Gap, 14 de fevereiro. Do depoimento do guarda Harvey Redman.
Por volta das cinco e meia da tarde de ontem, o jovem Danny Gresham entrou afobado no meu escritório, dizendo que uma linda garota subira para falar com Mr. Mark Hillyer e podia estar em perigo. A princípio, pensei que fosse mais sua imaginação. Mas ele relatou-me todos os fatos e achei que seria melhor darmos uma olhada. Quem escreve livros como Hillyer pode com a mesma facilidade matar alguém de verdade.
Peguei lanternas e fomos no meu velho carro. Chegamos à casa de Hillyer por volta das seis horas. Lá estava o conversível de Miss Montrose. E Danny mostrou-me as pegadas de uma mulher na neve em cima dos degraus.
Havia pegadas subindo.
Mas não havia pegadas descendo.
Portanto, Danny estava certo ao dizer que a garota ainda estava lá em cima.
Subimos, procurando não pisar nas pegadas. Batemos na porta. Mr. Hillyer abriu-nos a porta. Parecia surpreso. Contei-lhe o que a mulher dissera a Danny e perguntei onde estava Miss Montrose. Mr. Hillyer soltou uma risada e disse:
— Receio que Miss Montrose estava simplesmente brincando com você e Danny. Ela foi embora há cerca de uma hora, quando estava começando a escurecer.
Ao que eu lhe disse:
— Mr. Hillyer, há pegadas de mulher subindo os seus degraus, mas não há pegadas descendo. Além disso, o carro dela ainda está lá embaixo
— Mas que coisa estranha! — disse Mr. Hillyer, falando como se estivesse rindo.
— É o que eu também penso — declarei. É por isso que estou lhe perguntando onde está a moça.
— Mas não sei onde ela está — disse ele, fitando-me nos olhos. — Vou ser franco. Aquela garota é uma chantagista. Veio até aqui hoje para arrancar-me mil dólares. Paguei e ela foi embora. E isso é absolutamente tudo o que sei. Insisto que reviste a casa para verificar se há qualquer vestígio dela ou indício de que lhe fiz alguma coisa. Tudo o que quero é que fique comprovada a minha inocência.
Danny e eu revistamos a casa. Mr. Hillyer ficou sentado em sua cadeira ao lado da lareira, no escritório, fumando e esperando.
A casa era fácil de revistar, tendo apenas seis cômodos, com um único andar. Não tem porão nem sótão. A caldeira a óleo fica num pequeno compartimento. Os chãos são de cimento. As paredes são de blocos duplos de escória, com material isolante no meio.
A garota não estava na casa. E também não havia qualquer vestígio de sua passagem por lá. Não havia sinais de luta nem manchas de sangue.
Danny e eu saímos. Não havia quaisquer marcas na neve em torno da casa. O terraço no lado norte estava limpo, mas um pouco de neve espalhara-se pelo chão. E também não havia marcas ali. Isso não significava muita coisa, pois a neve se espalhava por toda a encosta até Harrison's Gully e não demoraria muito para que o terraço ficasse outra vez coberto de neve.
Danny experimentou a camada de neve, que se fragmentou ao primeiro passo. Ninguém poderia ter passado por aquela neve sem deixar marcas. Além do mais, o coração de Mr. Hillyer o teria matado se ele tentasse.
Assim, depois de darmos uma olhada na garagem e revistarmos o carro, especialmente a mala, fomos dizer a Mr. Hillyer que parecia que Miss Montrose fora mesmo embora.
— Fico contente que esteja convencido de que não a estou escondendo, seu guarda — disse ele, rindo. — Apesar da história que ela contou a Danny, de suas pegadas apenas subirem para a casa e de o carro ainda estar lá embaixo, é perfeitamente óbvio que eu não poderia tê-la matado e escondido o corpo... a não ser, é claro, que a tivesse carregado por uma ponte de vidro.
Falei que não havia entendido.
— Acho que não conhece muito bem a ficção de mistério, seu guarda. Uma das histórias mais famosas é sobre um homem que foi assassinado com uma faca de vidro. Depois, o assassino largou a arma num jarro com água e ninguém pôde encontrá-la. Assim, talvez eu tenha matado Miss Montrose e carregado o corpo por uma ponte de vidro... que está agora invisível. Mas posso lhe oferecer outra teoria. Talvez um disco voador tenha aparecido e levado Miss Montrose. Na verdade, quanto mais penso a respeito, mais fico convencido de que é justamente isso o que deve ter acontecido.
— Acho que não está levando o caso muito a sério, Mr. Hillyer — declarei. — Mas eu estou e vou chamar a Polícia Estadual.
E foi o que eu fiz. Eles é que devem descobrir onde a garota está. Tenho outros problemas a tratar neste momento.
Fim do depoimento do guarda Harvey Redman.
Parei de ler, a garganta ressequida. Tomei um gole de cerveja. De Hirsch abriu os olhos.
— Admiravelmente completo — disse ele, gentilmente. — É um bom pesquisador, embora não tenha muita imaginação.
Ele virou-se para Baynes e acrescentou:
— Assumiu o caso a partir desse momento, Tenente?
— Isso mesmo — resmungou Baynes, fitando-o. — Mas só depois que os patrulheiros Reynolds e Rivkin revistaram a casa. Igualmente sem resultados. Foi então que jogaram o caso no meu colo. Sempre me encarregam dos casos mais malucos. Fui até lá no dia seguinte. Mas interrogar Hillyer era como perguntar ao gato o que aconteceu com o canário. Mas ele falou a respeito do ângulo da chantagem. Disse que cometera um erro há alguns anos. A tal de Montrose soubera da história. Desde então, ele vinha lhe pagando mil dólares por ano. Todos os anos, quando se encontrava nas proximidades, a mulher avisava que iria aparecer dentro de um ou dois dias e ele providenciava o dinheiro.
"Verifiquei com Nova York. Ela estava mesmo fichada. Assim, a história de Hillyer provavelmente era verdadeira. Também verifiquei com o banco local. Haviam enviado dez notas de cem dólares para Hillyer apenas três dias antes.
"Revistei a casa, sem nada encontrar, exatamente como o guarda e os patrulheiros. A neve no terraço estava compacta, mas não o bastante para agüentar um homem sem deixar marcas.
Ou mesmo marcas de esquis. Talvez um tobogã não deixasse marcas.
"O problema é que ele nunca tivera um tobogã ou sequer um trenó pequeno em sua casa. A Sra. Hoff fizera uma faxina naquela manhã e até estivera na garagem, a fim de pegar seu material de limpeza. Teria visto alguma coisa tão grande quanto um tobogã. E jurou que toda essa idéia não passava de imaginação. E ele não poderia encomendar um tobogã especial por telefone, pois teria de ser entregue, e há semanas que ninguém levara qualquer coisa à casa além de comida e correspondência. Foi uma coisa que não deixei de verificar.
"Mas eu não tinha qualquer outra teoria. A garota tinha de estar em algum lugar! Convoquei quatro patrulheiros que sabiam esquiar e mandei que vasculhassem toda a área em torno da casa. Cobriram tudo num raio de meio quilômetro, inclusive duas ou três depressões e ravinas. Não encontraram quaisquer vestígios dela ou marcas na neve. Depois, começou a nevar novamente e tive de suspender as buscas. Mas estava certo de que ela não se encontrava em parte alguma onde pudesse ser encontrada.
"Hillyer estava desfrutando cada minuto da confusão. Adorava dar entrevistas e posar para as fotografias. Distribuiu cópias autografadas de seus livros para os jornalistas. Parecia de repente dez anos mais moço, de tanto que estava se divertindo.
"E não parava de fazer comentários de duplo sentido sobre o mistério de tudo aquilo. Citou um tal de Charles Fort, que escreveu sobre desaparecimentos misteriosos. Falou sobre desvanecimento espontâneo, brechas no contínuo espaço-tempo, seqüestro por homenzinhos verdes em discos voadores. Estava tendo o grande momento de sua vida.
"Assim, finalmente, tivemos de arquivar o caso. Absolutamente tudo que sabíamos era apenas os fatos com que havíamos começado. Uma garota subiu os degraus para a casa de Hillyer e simplesmente desapareceu. Assim, ficamos esperando que alguma novidade acontecesse. E foi o que se deu em junho.
Oliver Baynes fez uma pausa para terminar sua cerveja. De Hirsch acenou com a cabeça aristocrática, dizendo:
— E em junho o corpo foi encontrado.
Baynes fitou-o com alguma surpresa, confirmando:
— Isso mesmo. Em junho, Marianne Montrose deixou de ser uma espécie de mistério para se transformar em outra espécie de mistério. O que aconteceu...
Mas De Hirsch levantou a mão para detê-lo, sugerindo:
— Deixe Bob ler. Sei que ele escreveu tudo em seu estilo incisivo e dramático. E às vezes sinto o maior prazer com a prosa dele.
Assim, passei a ler:
Morgan's Gap, 3 de junho. Baseado nos depoimentos de Willy Johnson, 11 anos, e Ferdie Pulver, 10 anos.
Os dois garotos pararam ao lado do poço natural, que não chegava a ter 30 metros de largura. Estavam numa depressão comprida e estreita, com paredões escarpados de quase 15 metros de altura. Estendia-se por 300 metros até uma saliência rochosa, onde uma pequena catarata despejava-se na armadilha natural e fluía para formar o poço aos pés deles. O poço, por sua vez, despejava-se através de uma garganta estreita na rocha, apenas larga o suficiente para um garoto passar, estreita demais para permitir o acesso de um adulto.
Salgueiros e amieiros, verdejantes com folhas novas, estendiam-se na direção do sol. Tordos vermelhos entravam e saíam da depressão, corvos sobrevoavam lá em cima. Um tâmia olhava para os garotos de um galho próximo, sem demonstrar qualquer medo.
Eles estavam descalços, os sapatos nas mãos. A água estava gelada. Mas extasiados pelo pequeno mundo secreto da ravina, eles mal notavam a temperatura da água.
— Puxa, está sensacional! — exclamou Ferdie. — Vamos chamar a turma e brincar de piratas?
— Piratas? — repetiu Willy, desdenhosamente. — Pescar e muito mais divertido. Vamos, jogue seu anzol.
Ele prendeu uma minhoca relutante no anzol na ponta da linha e jogou no poço. Provocou pequenas ondulações na água verde e desapareceu. O garoto esperou por 30 segundos, depois deu um puxão impaciente.
— Ei, peguei alguma coisa! — gritou Willy.
— Não quer subir... deve estar preso em algum tronco.
Ele puxou com força. A linha foi deixando a água, lentamente, com um peso morto que quase não cedia. Ferdie não estava prestando a menor atenção. Olhava para o alto da ravina, onde um pequeno fragmento de algo branco pendia de um salgueiro.
— O que será aquilo? — perguntou ele, nervosamente. — Será que é um fantasma, Willy?
— Claro que não. — Willy nem mesmo olhou. Estava ofegante, enquanto recolhia a linha. — Puxa, enganchei num tronco ou algo assim...
Algo escuro e vermelho aflorou à superfície, rompendo a água com um lento movimento de redemoinho. Depois, a estranha massa virou e um rosto pálido e oval apareceu, cercado por um halo de cabelos dourados que balançava na água como se tivesse vida própria.
— Puxa! — gritou Willy, estridentemente. — É um cadáver! Vamos sair daqui, Ferdie!
Por trás deles, enquanto seus gritos desapareciam à distância, o rosto pálido e os cabelos dourados pareceram hesitar por um instante, como se esperassem. Depois, tornaram a afundar lentamente para as profundezas escuras e serenas de onde haviam saído.
Oliver Baynes retomou a narrativa, enquanto De Hirsch servia-se de mais uma dose do meu conhaque... acabando com a garrafa, diga-se de passagem:
— Os pais de Willy comunicaram a história ao guarda e o guarda chamou-me. Duas horas depois, meia dúzia de nós chegavam à casa de Mark Hillyer. O único meio decente de chegar à ravina sem fazer uma difícil escalada é descer através da propriedade de Hillyer. Ele se mostrou perfeitamente simpático. Quando lhe contamos o que queríamos, ele demonstrou apenas um ligeiro interesse.
"Hillyer chegou a dizer: — Se a encontrarem, revistem o bolso do blusão de esquiar. Ela tinha mil dólares meus quando saiu daqui e reivindico o dinheiro de volta.
"Chegamos à ravina, por um terreno de acesso difícil, baixamos as cordas. Começamos a procurar pelo corpo. Encontramos 20 minutos depois. Quando subiu, Danny Gresham, que estava conosco, imediatamente soltou um grito.
"E ele disse: — É ela! Mas como veio parar aqui, tão longe da casa? Ela deve ter voado!
"O corpo estava bem preservado, pois aquela água é gelada. E tinha mesmo dez notas de cem dólares no bolso do blusão. Continuamos a vasculhar o fundo do poço com os ganchos e finalmente encontramos o capuz e uma luva. Deixei os homens ainda vasculhando o poço e esquadrinhei a ravina pessoalmente. Afora umas poucas garrafas vazias e algumas latas, não havia coisa alguma que não devesse estar ali.
"Vasculhamos o poço durante o dia inteiro. Eu ainda acalentava a esperança de encontrar um tobogã ou algo parecido. Mas não havia nada. Tínhamos o corpo, a meio quilômetros da casa, sem qualquer indicação de como chegara até lá.
"Removemos o corpo e efetuamos a autópsia. Ela morrera de frio. O estômago estava vazio... não havia como determinar há quanto tempo fizera a última refeição por ocasião da morte. Não havia vestígio de veneno nos tecidos.
Oliver Baynes fez uma pausa, olhando para De Hirsch com uma expressão de desafio, antes de acrescentar:
— Aí está o caso da chantagista loura. Agora, vamos ouvir a sua explicação, sem recorrer a desaparecimentos espontâneos, brechas no contínuo espaço-tempo, pontes de vidro e discos voadores.
Meu amigo húngaro uniu as pontas dos dedos, com uma expressão pensativa.
— Não posso — disse ele, afavelmente. E quando uma expressão de triunfo estampou-se nas feições avermelhadas de Baynes, De Hirsch acrescentou: — Não posso, sem mencionar a ponte de vidro, o disco voador e, acima de tudo, a mortalha.
— Claro, claro! — O Tenente Baynes parecia irritado. — Dê-nos mais algumas palavras empoladas e depois reconheça que não tem a menor idéia do que aconteceu com a garota!
— Não posso fazer isso — protestou De Hirsch, com uma expressão de satisfação. — É que sei o que aconteceu com ela. Ou pelo menos saberei quando acrescentar o último item que deixou fora da narrativa.
— Deixei fora? — murmurou Baynes, aturdido.
— O objeto branco que Ferdie Pulver pensou que fosse um fantasma — explicou De Hirsch.
— Ah, sim... — Baynes deu de ombros. — Era apenas um lençol velho e rasgado, preso nos galhos do salgueiro. Tinha a marca de lavanderia de Hillyer. Ele disse que devia ter sido arrancado do varal, em alguma ventania da primavera. Não significava absolutamente nada. Os peritos examinaram meticulosamente, quase fio a fio. Era apenas um lençol velho.
— Não, não era apenas um lençol velho — murmurou De Hirsch, numa suave correção. — Era uma mortalha. Exatamente como eu disse... uma ponte de vidro, um disco voador e uma mortalha. Não pode perceber, na arrogância do orgulho por seu próprio intelecto, que Hillyer disse a verdade. Ele forneceu-lhe todas as pistas. Ou pelo menos forneceu ao guarda Redman e constavam do depoimento. Hillyer matou Marianne Montrose e despachou-a para longe num disco voador, por cima de uma ponte de vidro, para o lugar nenhum... que neste caso é a eternidade.
Baynes mastigou o lábio inferior. Ficou olhando fixamente para De Hirsch, aturdido. E eu também. Era exatamente a situação que De Hirsch mais apreciava... quando podia dispensar a frustração à guisa de explicação.
Lentamente, Baynes meteu a mão no bolso. Tirou a carteira. Pegou uma nota de 20 dólares. E disse, incisivamente:
— Vinte dólares dizem que você está apenas blefando.
Os olhos de De Hirsch se iluminaram. Mas, depois, ele suspirou e sacudiu a cabeça, murmurando:
— Não. Somos ambos hóspedes de um velho e prezado amigo. Não seria digno de um cavalheiro aceitar dinheiro de outro hóspede por um problema tão simples.
Baynes rangeu os dentes. Tirou mais duas notas da carteira e disse asperamente:
— Cinqüenta dólares garantem que você não sabe mais do que nós.
De Hirsch fixou em mim os seus olhos pretos e profundos. Calculei apressadamente o que receberia por uma história policial verídica que escrevera recentemente e tirei o talão de cheques.
— Aposto cem dólares que você não é capaz de nos dar a solução — anunciei, fitando-o nos olhos.
Eu sabia que meu amigo húngaro não tinha cem dólares ou mesmo 50 dólares, desconfiava que não havia em seus bolsos ao menos cinco dólares. O Barão de Hirsch empertigou-se.
— Estão me tornando impossível recusar, como um cavalheiro. Mas precisarei de alguma ajuda... precisarei de um pregador de roupa.
A boca entreaberta de Baynes se fechou. E a minha fechada se entreabriu.
— Na gaveta à esquerda da pia da cozinha — informei. — Deve estar em algum lugar por lá. A Sra. Ruggles, minha faxineira...
Levantando-se com um movimento ágil, De Hirsch já deixara a sala, tirando do bolso no caminho um lenço de linho branco e imaculado. E uma caneta-tinteiro.
Olhei para Baynes. Ele olhou para mim. Nenhum dos dois falou. De Hirsch ausentou-se por apenas cinco minutos. Ouvi uma gaveta abrir. Ouvi um som abafado, que podia ser o da geladeira sendo aberta. Ou o freezer. De Hirsch voltou à sala e sentou-se. Abriu a nova garrafa de conhaque, que eu pegara sem dizer nada depois que ele olhara para a vazia com uma expressão especulativa.
— Vai demorar alguns minutos — informou ele, jovialmente. — Enquanto isso, podemos conversar. O que vocês acham da situação política?
— Que se dane a situação política! — explodiu Baynes. — O que tem a dizer sobre Hillyer e a garota? Como foi que ele a matou?
De Hirsch bateu com a palma da mão na testa, exclamando:
— Esqueci de perguntar! Hillyer sofre de insônia? Baynes franziu as sobrancelhas.
— Sofre, sim. Isso consta do relatório que recebi do médico dele. Mas o que...
De Hirsch não o deixou continuar:
— Evidentemente, era o que eu presumia. Mas é claro que nunca se deve presumir coisa alguma. Ora, Tenente, Hillyer matou-a pondo pílulas para dormir num drinque. Quando ela ficou inconsciente, Hillyer tirou-a da casa e enterrou-a na neve profunda da Harrison's Gully. Ali, no devido tempo, o corpo absorveu as pílulas para dormir. A moça acordou quase congelada. Por um breve momento, misericordiosamente breve, ela se debateu contra os grilhões de ferro que a prendiam. Depois, foi dominada pelo sono aprazível que envolve os que congelam, conduzindo-a pelos degraus compridos e escuros até a morte.
— Uma prosa das mais bonitas — resmungou Baynes. — Mas não disse coisa alguma. Não havia grilhões de qualquer espécie. Nenhuma marca no corpo. Absolutamente nada. É possível que ele a tenha deixado inconsciente com pílulas para dormir. Eu próprio já havia pensado nisso. Mas o que aconteceu em seguida?
O Barão de Hirsch demorou algum tempo a responder. Finalmente virou-se para mim e disse:
— Diga-me uma coisa. Bob... Na sua opinião, Mark Hillyer alcançou uma pequena forma de imortalidade com este caso? Encontrou a fama que sempre procurou e que sistematicamente se lhe esquivava?
— Claro que sim — respondi, sem a menor hesitação. — Já há muita especulação entre os fãs do crime, se ele a matou ou não. O mistério de como ela foi parar na ravina é tão provocante quanto o mistério famoso do que aconteceu a Dorothy Arnold. Daqui a cem anos, o nome de Hillyer ainda estará aparecendo em livros, os estudiosos discutindo se ele foi culpado ou inocente. Como Baynes disse, ele está na crista da onda. Tem um livro novo para sair e os antigos tiveram novas edições. Hillyer tornou-se famoso e assim continuará enquanto o caso permanecer insolúvel. E quanto mais tempo ficar insolúvel, mais famoso ele se tornará. Foi o que aconteceu com Jack o Estripador.
— Ahh... — murmurou De Hirsch. — E assim que o caso for resolvido, ele se torna apenas infame... um sórdido assassino. Um choque para um ego... especialmente para um ego como o dele. Mas acho que agora já podemos discutir o mistério da ponte de vidro, o disco voador e a mortalha... tudo invisível!
Ele levantou-se e foi à cozinha. Ouvi novamente a porta da geladeira ou do freezer ser aberta e fechada. De Hirsch voltou com alguma coisa na mão. Estava coberta por um guardanapo e assim não podíamos ver do que se tratava. Ele pôs o objeto sobre o tampo polido da mesinha de café. E disse, a voz subitamente incisiva e autoritária:
— Agora, vamos voltar a fevereiro último. É uma tarde terrivelmente fria. Mark Hillyer, furioso e desesperado, está parado na janela, esperando a aproximação do carro de uma chantagista. Sabemos o que mais ele viu... crianças brincando. Observando-as, uma idéia explodiu em sua mente, completa e requintada, como Minerva saltando da testa de Júpiter. Ele podia se livrar da chantagista com toda segurança, precisando apenas de um mínimo de sorte. Se falhasse... ora, era um homem doente e poderia alegar extrema provocação. Se conseguisse... mas que prazer contemplar o mundo estúpido perplexo com o mistério que ele criara!
"Mark Hillyer entrou em ação imediatamente. Pegou um lençol velho, o maior que possuía, estendeu-o sobre as lajes do terraço ao norte. Fez algumas coisas com o lençol e depois voltou para o interior da casa. A tal de Montrose chegou alguns minutos depois. Hillyer conversou com ela, deu-lhe um drinque em que estavam dissolvidas as pílulas para dormir. Mais 20 minutos ou por aí e ela desabou, inconsciente.
"Hillyer derrubou-a da poltrona para o chão. Ajeitou-a em cima de um pequeno tapete. Como podem ver, não houve qualquer esforço exagerado para afetar seu coração avariado.
"Hillyer arrastou o tapete pelo chão até o terraço. Ali, rolou a mulher inconsciente para o lençol estendido. Ajeitou-a de tal forma que ela ficou bem no meio...
Com um gesto teatral, De Hirsch arrancou o guardanapo sobre o objeto em cima da mesinha. Vimos que era o seu lenço. Alguma coisa estava no meio do lenço... um pregador, com olhos e boca marcados a tinta, como se fosse uma mulher em miniatura e o lenço fosse um lençol.
Para ver o pregador, tive de levantar um dos cantos do lenço. É que os quatro cantos estavam dobrados para o centro, cobrindo inteiramente o pregador, como se fosse um envelope. E o lenço estava duro e rígido.
Compreendemos então o que De Hirsch fizera. Molhara o lenço e o pusera no freezer. Como roupa no varal num dia de inverno, o lenço ficara rígido. Lá dentro, aprisionado, estava o pregador, representando uma mulher. Formava um embrulho impecável e perfeito. Se fosse um lençol de verdade e uma mulher de verdade no meio, não deveria formar um volume muito grande.
E finalmente Baynes e eu entendemos como Mark Hillyer cometera o crime e se livrara do cadáver. Molhara um lençol grande num dia de intenso frio. Pusera uma mulher inconsciente no meio do lençol, enroscada, dobrara os cantos por cima dela. O frio congelara o lençol molhado, transformando-o numa espécie de caixa, tão dura como se fosse de madeira. Em poucos minutos, Marianne Montrose, inconsciente, era uma prisioneira dentro de uma mortalha congelada, tão formidável quanto grilhões de ferro. Depois, ele empurra o objeto largo pelo terraço e a superfície dura da neve. Por causa da dispersão do peso, não ficara qualquer marca. A coisa deslizara suavemente pela encosta, adquirindo velocidade, passando por cima dos obstáculos, até finalmente saltar da beira da encosta e mergulhar para as profundezas da ravina.
Como se fosse um exemplo, De Hirsch deu um piparote com o dedo no lenço congelado. Girou pela mesa e caiu pela beira, mergulhando numa cesta de papel.
Ali, entre as folhas de papel que eu jogara fora, subitamente desapareceu.
— Um disco voador! — exclamou De Hirsch. — No depoimento de Danny Gresham, ele mencionou especificamente as novas conchas de alumínio com que algumas crianças estavam brincando na neve. São discos de metal, em que uma criança senta e desliza pela encosta, numa velocidade realmente impressionante. A superfície de contato com a neve é mínima. Foi o que Hillyer viu, o que lhe deu a idéia sobre a maneira de livrar-se do corpo.
"A ponte de vidro já estava ali... uma camada fina e escorregadia de gelo, por cima da neve sobre a encosta de sua casa até a ravina. Ele fez o disco voador com um lençol molhado e exposto ao frio intenso. E tornou-se a mortalha da mulher, quando ele a ajeitou no meio e dobrou as pontas por cima.
"E lá se foi, girando, deslizando. Não podia parar. Saltou da beira, caiu na ravina. Um objeto branco, na neve branca. Invisível para olhos a procurarem. Um pouco de neve foi soprado por cima e a coisa desapareceu. Para encontrá-lo, era preciso pisar em cima. E não havia muita possibilidade de que isso acontecesse.
"Lássd! Ou, para dizer em francês, voilá! Um mistério desconcertante e impenetrável fora criado, com o aproveitamento de um lençol velho e as forças naturais do inverno. Uma mulher fora transportada por uma distância de meio quilômetro, através de algum meio aparentemente milagroso. Um homem doente cometera o crime aparentemente perfeito!
— Mas que desgraçado! — explodiu Baynes. — Dizendo na minha cara como cometera o crime e fazendo-me pensar que era apenas uma gozação! A mulher e o lençol provavelmente ficaram presos no galho até a primavera. Quando veio o degelo, o lençol descongelou, a mulher caiu e foi arrastada para o córrego até o poço, não deixando coisa alguma em sua esteira... nenhuma pista, nenhum vestígio, apenas um lençol velho!
— Mas se, com imaginação, alguém vê o lençol como uma mortalha... — De Hirsch estendeu a mão para o dinheiro e o meu cheque na mesinha. — ... e se alguém aceita os comentários de um homem esperto pelo que são, então um mistério pode se transformar numa coisa corriqueira.
— Jamais conseguiremos provar — murmurou Baynes.
— Talam! — disse De Hirsch. — Talvez não. Mas podemos deixá-lo saber que seu mistério não é mais um mistério e que ele não mais será o tema de estudos não muito espertos de homicídios no ano 2000. Vou escrever-lhe uma carta.
Ele foi até o meu gabinete e bateu na máquina de escrever durante meia hora. Despachou a carta naquela mesma tarde. Mark Hillyer recebeu-a na manhã seguinte. Não sei o que dizia a carta, mas Oliver Baynes, através da empregada, descreveu-me a reação de Hillyer.
A Sra. Hoff estava arrumando o escritório quando o carteiro chegou. Levou a carta para Hillyer, que estava no terraço. Ele parou de escrever para abri-la. Mal tinha começado a ler quando ficou mortalmente pálido... tão pálido que a Sra. Hoff tornou a se aproximar, alarmada. Enquanto continuava a ler, o rosto de Hillyer foi ficando vermelho, de forma assustadora. Mal olhou para a segunda página, antes de rasgar a carta e jogar os pedaços num cinzeiro grande de latão. Acendeu um fósforo com mãos que tremiam tão violentamente que mal conseguia riscá-lo. E queimou a carta rasgada.
Como se ainda não fosse capaz de aliviar a raiva, ele pegou o cinzeiro e arremessou-o no chão. Por um instante, ficou de pé, olhando para o norte, na direção de Harrison's Gully, as mãos fechando e abrindo.
E depois começou a respirar com dificuldade. Virou-se, estendendo a mão para se apoiar, mas caiu antes de conseguir alcançar a cadeira. Apertando a garganta e o peito, ele balbuciou:
— Remédio... meu remédio...
O estimulante para o coração não estava no armarinho de remédios, mas sim na mesinha de cabeceira. A Sra. Hoff demorou dois ou três minutos para encontrá-lo. Quando voltou apressadamente ao terraço, Hillyer já estava morto.
Admito que fiquei um tanto chocado. Mas De Hirsch tomou conhecimento da morte de Hillyer com a maior serenidade.
— Utovegre! — exclamou ele. — O que significa que tal reação é tão boa quanto uma confissão.
A SORTE NÃO É UMA DAMA - Robert Bloch
Frankie apoiava-se no balcão com as duas mãos. Se não o fizesse, poderia cair. E não queria apagar, porque o cara, o velho Professor, estava lhe falando. Se escutasse, talvez o cara continuasse a lhe pagar bebidas.
— Sorte — disse o velho Professor. — É isso o que faz toda a diferença do mundo. Há cinco anos, eu era um respeitável professor na universidade. Hoje, por causa das vicissitudes do destino...
Ele fez uma pausa e suspirou. Frankie suspirou também, dizendo:
— Posso entender o que está falando. Eu também não estou acostumado a ser um vagabundo.
O que era uma mentira, porque Frankie sempre fora um vagabundo. Mas ele queria manter as relações cordiais, queria tomar outro trago. E o velho estava fazendo sinal para o bartender. Ele tirou uma moeda do bolso e mostrou-a.
— Cara ou coroa? — disse o Professor. — Quem pode dizer o que vai dar quando eu largar esta moeda no balcão? Eu não posso. Você não pode. E o bartender também não pode. Um matemático dirá que as chances são iguais, para qualquer dos lados. O Professor Rhine lhe dirá que as chances podem ser modificadas. Mas ninguém sabe. E aí está o Mistério do Universo. Nenhum de nós pode prever o que a sorte trará. Veja agora!
Frankie estava agora com os olhos focalizados e observou a moeda cair. Bateu no balcão, quicou, depois ficou imóvel... equilibrada na beira.
— Sorte! — O velho Professor soltou uma risada. — Pura sorte, operando ao nosso redor, governando cada momento de nossas vidas. Se Lincoln tivesse se abaixado para amarrar o sapato no momento em que Booth disparou seu tiro... se a ave não tivesse aparecido quando Colombo enfrentou os amotinados... se! Mas somos todos vítimas da Fortuna.
— É uma coisa que eu nunca tive — protestou Frankie.
— Estou falando de Fortuna, a deusa da sorte dos romanos, uma das Parcas.
— Jamais conheci a dama.
— Dá para se perceber. — O Professor sorriu para Frankie por cima do copo. — Os antigos compreendiam a importância dela. Realizavam um festival anual em sua homenagem. Se não me engano, era no dia 24 de junho. Já a vi representada com uma cornucópia nas mãos...
— Vamos tomar outro trago — murmurou Frankie. — Mais um e estarei pronto para o que der e vier.
— Não deveria beber tanto. Frankie deu de ombros.
— Por que não? O que mais há para fazer? Nunca tive qualquer chance, nem uma única vez. Olhe só para mim... um cara na pior, sujo, liquidado. Tremo como um velho, embora tenha apenas 33 anos. Se ao menos tivesse uma chance decente...
O Professor estava acenando com a cabeça.
— Sei como são essas coisas. Poderia lhe contar uma história similar. E todos os homens poderiam fazer a mesma coisa. Um homem pega os seus últimos cem dólares e compra uma cabana na praia... e seis meses depois encontram-no lá morto de fome. Outro faz a mesma coisa... e seis meses depois encontram petróleo ali, ele vende a propriedade por um milhão de dólares e mais os royalties. Um homem sai para a rua e encontra uma carteira recheada na sarjeta. Outro homem sai para a mesma rua um momento depois, bem a tempo de ser atingido por um tijolo caindo do alto do prédio. A Fortuna é uma deusa caprichosa, meu amigo. Mas quem sabe? Sendo caprichosa, ela pode inverter sua atitude e passar a cumulá-lo de riqueza e felicidade.
— Essa não! — exclamou Frankie.
— É a reação da mente científica — disse o velho Professor. — Mas não tenho tanta certeza. Se ao menos eu pudesse descobrir o segredo do que atrai a Fortuna, eu não pediria por mais nada. Talvez seja apenas uma questão de convicção profunda. Ou de devoção. A Fortuna é uma deusa e as deusas exigem adoração. Sendo mulher, ela exige constância. Não seria possível que os supostos afortunados são na verdade apenas aqueles que descobriram o segredo e juram fidelidade à Fortuna, em troco de seus favores?
— Sei lá... — murmurou Frankie. — Só posso dizer que eu faria qualquer coisa para que essa dama mudasse minha sorte.
Ele pegou o copo, tomou tudo, depois virou-se. Mas o velho Professor já se afastara. O bartender aproximou-se, sacudindo a cabeça e comentando:
— É engraçado o que dá na cabeça dessas caras de vez em quando...
— Tem razão — murmurou Frankie. — Mas o que não entendo é como um cara como ele veio parar nesta espelunca.
— Tem muita gente bacana aparecendo por aqui, por causa do jogo lá atrás.
Foi então que Frankie se lembrou. Claro, havia a sala lá nos fundos. Roleta, dados, todo o resto. Frankie jamais entrara lá, porque jamais tivera dinheiro para uma aposta. Mas agora que pensava nisso, podia recordar que muitas pessoas haviam entrado e saído da sala dos fundos, passando por suas costas. Como o cara careca que estava passando agora, o estudante de óculos e a dama de vermelho.
A dama de vermelho... mas que coisinha sensacional!
Já fazia uns dois meses que Frankie não prestava qualquer atenção às mulheres. Quando se está realmente lá no fundo, as mulheres deixam de interessar. Mas aquela era diferente.
Ela usava um vestido vermelho comprido espetacular, a pele era branca que nem mármore, os cabelos muito pretos. Como os olhos. Ela olhou para Frankie ao passar. E sorriu.
A dama de vermelho sorriu para ele! A aparência dele não devia tê-la incomodado.
Frankie estava alto ou nunca teria feito aquilo. Mas estava alto e foi atrás dela. Foi à porta da sala dos fundos e parou atrás dela, enquanto o vigia do outro lado espiava e dava o seu assentimento. E Frankie entrou na sala dos fundos com a dama de vermelho... sem que o vigia tentasse impedi-lo. Na verdade, Frankie teve a impressão de que o vigia estava olhando para ele mais do que para a mulher.
A sala dos fundos era maior do que ele imaginara, com um luxo e tanto. O bar ordinário na frente não passava de um disfarce. Aquele era o McCoy... três mesas de roleta grandes e quatro mesas de pano verde no canto para os dados. E devia haver pelo menos 50 pessoas lá dentro.
A sala estava enfumaçada, mas não barulhenta. Até mesmo os jogadores de dados estavam quietos. E quando uma roleta girava, não se podia nem ouvir o barulho da bolinha. Frankie seguiu a dama de vermelho até uma das mesas de roleta. Havia uma porção de rostos gordos lá, cidadãos bem vestidos, cheios da grana. Pilhas de fichas na frente de alguns. Pilhas menores diante de outros. E a roleta no meio da mesa girando, a roleta com os 36 números e o zero e o duplo zero, a roleta com o vermelho e o preto. Cada vez que girava, algumas das pilhas de fichas ficavam menores e outras tornavam-se maiores.
Por quê?
Ali estava a coisa de que o velho Professor estivera falando. Fortuna. Sorte.
Alguns dos caras deviam ter mais de mil dólares em fichas na sua frente e continuavam a ganhar. Alguns dos outros continuavam a perder e a comprar mais fichas, um dólar pelas brancas, dez pelas vermelhas e 20 pelas azuis.
Mas, ganhando ou perdendo, todo mundo estava excitado. Frankie podia sentir o excitamento em torno da mesa se irradiando em ondas. Todos observavam a roleta girar, a cada vez. Frankie ficou observando também, sentindo a pressão. Se ao menos ele tivesse agora alguma coisa para apostar...
Ele olhou para a dama de vermelho. Ela também não estava jogando, apenas olhando, da mesma forma que Frankie. Não exatamente da mesma forma, porque ela não estava excitada. Frankie. podia percebê-lo pela maneira como ela estava parada ali, mais parecendo uma estátua. Ninguém mais prestava qualquer atenção à dama de vermelho, embora ela fosse a coisa mais quente que havia na sala. Era de se pensar que nem mesmo sabiam que ela estava ali, a julgar pelo jeito como a ignoravam e continuavam fixados na mesa, na bolinha de prata quicando pelo lado da roleta.
Ela olhava, mas seus olhos nunca se alteravam. Não cerrou as mãos, não respirou fundo, nem mesmo parecia interessada. Era quase como se soubesse quem ia ganhar e quem ia perder.
Frankie contemplou-a, atentamente. De repente, ela virou a cabeça e tornou a fitá-lo. Aqueles olhos pareciam um par de pedras pretas. Frankie quis desviar os olhos, mas ela o fez primeiro. E baixou os olhos para o chão.
Frankie inclinou-se para descobrir o que ela estava olhando. E ficou aturdido ao perceber.
Havia uma ficha caída no chão, bem ao seu lado. Devia ter caído da pilha de alguém. Frankie abaixou-se e pegou a ficha. Era azul... uma ficha de 20 dólares. Podia descontá-la imediatamente. Estava tendo alguma sorte!
Ele começou a olhar ao redor, à procura de um dos caixas que circulavam entre os jogadores, levando dinheiro e fichas. Mas não avistou nenhum. E o homem da roleta estava anunciando:
— Façam suas apostas, senhoras e senhores...
Por que não? Vinte dólares encontrados era um golpe de sorte. E talvez a sorte se mantivesse. Vinte dólares poderiam se transformar em 40. Mas em que ele deveria apostar, no preto ou no vermelho?
Frankie olhou novamente para a mulher. Ela usava um vestido vermelho, o que era um palpite. Mas os cabelos eram pretos, assim como os olhos. Os olhos pretos estavam fitando-o naquele momento...
Claro, ele tinha de jogar no preto. Frankie começou a baixar a ficha, mas sua mão ainda não estava firme e a ficha escapou-lhe. Rolou pela mesa e foi cair no número 33.
Frankie fez menção de recolher a ficha, mas o crupiê declarou:
— A banca está fechada!
A roleta começou a girar. Tudo o que Frankie podia fazer era ficar parado ali a olhar. Vinte dólares jogados fora como se não valessem coisa alguma, um tremendo azar. A roleta girava e girava, a bolinha girava e girava, a sala girava e girava...
A bola parou. A roleta parou. E a sala parou também. Assim, Frankie pôde ouvir o crupiê anunciar:
— Preto, 33. O seu numero!
E começou. O crupiê empurrou a pilha grande de fichas na direção dele. A dama de vermelho sorriu e ele pôs a metade das fichas no vermelho. Deu o vermelho. Ele deixou a pilha no lugar e deu vermelho outra vez. Três vezes consecutivas. Frankie sentia que não podia perder.
Mas a dama de vermelho sacudiu a cabeça e afastou-se da mesa. Assim, Frankie recolheu todas as fichas e entregou-as ao caixa. Recebeu em notas de 20, 50 e 100. Três mil e 20 dólares!
Frankie meteu o dinheiro nos bolsos e atravessou apressadamente a multidão, pois queria ver novamente a dama de vermelho, talvez lhe dar metade do que ganhara.
O vigia abriu-lhe a porta e a dama saiu na frente. Frankie chamou-a:
— Ei, espere um pouco!
O vigia fitou-o.
— Qual é o problema, meu chapa?
— Eu não estava falando com você, mas com a dama.
— Que dama?
Frankie não respondeu, porque podia ver a dama de vermelho saindo pela porta da frente da taverna. Ele alcançou-a na esquina. O ar fresco atingiu-o em cheio, deixou-o um pouco nauseado. Mas aproximou-se dela e disse:
— Obrigado. Você me deu sorte.
Ela limitou-se a sorrir. Na semi-escuridão, seus olhos ainda estavam mais escuros do que antes.
— Tome aqui. — Frankie estendeu-lhe um punhado de notas. — Acho que tem direito a isso.
Ela não pegou o dinheiro.
— Estou falando sério. Pode ficar com o dinheiro. — Frankie fez uma pausa. — Mas o que há com você? É surda ou qualquer outra coisa parecida?
Não houve resposta. Então era isso mesmo. Imagine uma dama de classe como aquela completamente surda... Mas os surdos não podiam ler os lábios das outras pessoas?
— Para onde está indo?
Também não houve resposta. Talvez ela fosse também retardada mental. Não era de admirar que não tivesse alguém a acompanhá-la.
— Não quer ir comigo? — insistiu Frankie.
Não havia a menor possibilidade de ela aceitar... uma dama como aquela acompanhando um vagabundo esfarrapado. Mas nada mais fazia sentido. Além do mais, Frankie estava muito cansado para encontrar sentido nas coisas. Tudo o que sabia era que precisava descansar um pouco, recuperar a sobriedade. Se ela quisesse acompanhá-lo, seria ótimo. Ninguém dizia coisa alguma no albergue em que ele costumava dormir. Mas ele precisava dormir agora, de qualquer maneira.
Frankie começou a andar, e é claro que a dama de vermelho acompanhou-o. Não fazia qualquer barulho, nem mesmo o matraquear de saltos altos, porque estava de sandálias. E não havia anéis ou outras jóias para fazer barulho. Uma coisinha sensacional, mas parecia uma estátua.
E ficou parada como uma estátua no meio do quarto imundo de Frankie.
Estaria esperando que ele lhe passasse uma cantada? Tudo o que Frankie sabia era que estava muito cansado, terrivelmente cansado. Arrastou-se pelo quarto e desabou na cama. Sabia que não poderia evitar de cair...
Ele devia ter dormido assim a noite inteira, com a cabeça no colo dela. E ela devia ter passado a noite inteira sentada ali, sem dormir. Porque era de manhã e ela fitava-o, sorrindo.
Ela continuou a sorrir enquanto Frankie se lavava, fazia a barba e vestia a sua outra camisa. Ele tentou novamente puxar conversa, mas ela não respondeu. Limitou-se a sorrir e esperar, esperar até que ele vestisse o paletó e pegasse o chapéu.
— Vamos embora — disse Frankie. — Estou faminto.
Desceram e saíram para a rua, Frankie já estava se encaminhando para o seu botequim habitual quando se lembrou de que estava com três mil dólares no bolso. Por que não comer num daqueles restaurantes grandes e atraentes na Main Street? Mas ele não podia ir a um restaurante bacana do jeito como estava vestido, com aquela aparência.
— Espere um pouco — disse ele à dama de vermelho. — Vou fazer algumas compras primeiro.
Ela esperou, sorriu e esperou, enquanto Frankie entrava no Hub e comprava uma fatiota completa. Tudo mesmo, de. sapatos a um chapéu de 20 dólares. Por apenas 130 dólares, estava agora parecendo com um cara de um milhão de dólares.
O vendedor mostrou-se bastante polido, mas ignorou a dama de vermelho. Frankie não deu muita importância ao fato. Mas depois, no restaurante, a garçonete comportou-se da mesma forma... trazendo-lhe um copo de água e o cardápio, mas nada para a dama de vermelho.
Mas, no final das contas, ela não queria mesmo comer coisa alguma. Frankie ainda apontou para o cardápio, mas ela limitou-se a sacudir a cabeça.
Frankie acabou comendo sozinho. Depois, recostou-se na cadeira e tentou avaliar a situação. Ali estava ele, tendo no bolso quase três mil dólares ainda. Mas tinha também a ela, Miss não-pode-ouvir, Miss não-pode-falar, Miss não-dorme, Miss não-come. O que fazer agora?
Ela sorriu-lhe e Frankie retribuiu o sorriso. Estava começando a imaginar coisas. É verdade que ela lhe trouxera sorte, mas havia alguma coisa de meio maluco nela... algum parafuso completamente solto. Tinha de encontrar um jeito de livrar-se dela, antes que acabasse se metendo em alguma encrenca.
Frankie saiu do restaurante e ela foi atrás. Geralmente ele ia se postar num banco do parque pela manhã. Mas parou no momento em que se aprontava para atravessar a rua. A dama de vermelho segurava-lhe o braço, olhando para uma placa. ACME METAL PRODUCTS COMPANY. E daí?
Havia outra placa na vitrine da frente do prédio. Ela estava olhando para lá. PRECISA-SE DE HOMENS.
Frankie tentou dar outro passo, mas ela deteve-o. E agora estava apontando. Frankie piscou os olhos, aturdido. O que ela estava querendo dizer-lhe? Imaginava que ele fosse entrar lá e pedir um emprego?
Ele podia fazê-lo, é claro Fora nisso que trabalhara, anos antes. Ainda tinha o seu cartão da previdência social. E provavelmente poderia dar um jeito de voltar ao sindicato, apesar do seu processo por vadiagem. Mas como ela poderia saber disso? E o que a fazia pensar que ele gostaria de voltar a dar duro, quando tinha toda aquela grana no bolso?
Frankie sacudiu a cabeça. Mas ela continuou a sorrir, a puxá-lo pela manga do paletó. Subitamente, ele teve uma idéia.
— Está certo. Vou entrar. Mas fique esperando aqui.
Frankie apontou para um portal ao lado e a dama de vermelho foi postar-se ali, obedientemente. Frankie entrou no prédio, enquanto ela o presenteava com um sorriso exuberante. Depois de entrar, Frankie pôs-se a sorrir também. Sabia o que tinha de fazer agora. Aquela espelunca devia ter uma saída dos fundos. Ele simplesmente sairia pelo outro lado. Muito simples.
Somente que havia um cara no corredor, que avistou Frankie e disse:
— Você é mecânico ou metalúrgico?
— Moldador — respondeu Frankie, a informação lhe saindo com a maior naturalidade, antes que tivesse tempo de se controlar. — Mas não sou sindicalizado...
— Esta fábrica também não é, meu chapa. Vamos entrar e preencher o formulário. Estamos com pressa, o patrão grita por socorro, esta cidade é infernal quando se procura gente com experiência...
Antes que Frankie compreendesse o que estava acontecendo, o cara empurrou-o para uma sala, um sujeito gordo chamado Chesley estava lhe entregando um formulário.
Frankie já ia lhe dizer que não estava interessado quando a porta se abriu às suas costas.
Eles entraram apressadamente, dois homens, avançando como brinquedos de corda. Os dois usavam lenços cobrindo as bocas. Deviam ter posto no corredor, antes de empunharem as máquinas.
— Levantem as mãos e não se mexam!
Lá estava Frankie e o tal de Chesley, além de um velho contador e o cara que levara Frankie para a sala. Todos levantaram as mãos rapidamente.
— Todos na parede! — disse o primeiro bandido. — E depressa!
Eles começaram a se mexer, o velho contador parecia que estava prestes a apagar. E, de repente, apagou mesmo.
— Segurem-no! — gritou Chesley. — Ele tem problemas de coração!
Os dois assaltantes viraram e ficaram observando o homem cair. Frankie também estava observando. Não percebeu a cesta de papel grande à sua frente até que esbarrou nela.
Era uma cesta de metal e caiu ruidosamente, rolando pelo chão. Foi atingir a canela de um dos assaltantes. Frankie tropeçou por causa do esbarrão na cesta e caiu para a frente. As mãos estendidas procuraram alguma coisa para segurar. E por acaso foi o pescoço do assaltante mais próximo. De repente, o cara e Frankie estavam caídos no chão, engalfinhados. Frankie divisou a arma à sua frente. Estendeu a mão para pegá-la, porque não podia pensar em fazer alguma coisa sensata, como não recolher a arma.
O outro assaltante viu-o pegar a arma e afastou-se bruscamente do cofre. Foi nesse momento que a cesta a rolar atingiu-o na canela. Ele ficou aturdido, soltou um grito e virou-se. Ficou de costas para Chesley, que pulou em cima dele. Frankie arrancou a arma da mão desse assaltante com um golpe vigoroso no pulso e ficou cobrindo-os com o revólver que pegara no chão, enquanto Chesley acionava o alarme contra ladrões.
Houve muita confusão durante a meia hora seguinte. Depois que os tiras acabaram de falar com Frankie, foi a vez dos repórteres. E depois que os repórteres acabaram, foi novamente Chesley. E Frankie nunca precisou preencher o formulário.
Chesley estava deliciado com a perspectiva de Frankie trabalhar para ele, começando no dia seguinte.
Frankie estava tão atordoado que acabou saindo pela porta da frente. Ao perceber o que estava fazendo, já era tarde demais para voltar. E lá estava ela. Ficara esperando durante todo o tempo e agora o avistava.
Como o velho Professor dissera, era tudo uma questão de sorte. A roleta, tropeçar na cesta de metal, agora aquele emprego e uma vida nova e decente à sua frente. Sorte pura.
Frankie olhou para a dama de vermelho. E agora? Ela estava sempre por perto quando as coisas aconteciam.
Ele convidou-a a acompanhá-lo com um aceno de cabeça e ela sorriu. Desceram a rua juntos. Frankie comprou algumas malas e depois foi para o Ardmoor, alugando uma suíte mobiliada. Duzentos dólares por mês, mas sem qualquer pergunta. O recepcionista nem mesmo olhou para a dama de vermelho. E o garoto que pegou as malas levou-os para a suíte sem dizer nada, sem ao menos sorrir maliciosamente.
Frankie jogou uma moeda de meio dólar para o garoto e depois sentou na cama. Ela ficou parada no meio do quarto, sorrindo.
— Então é isso, nem, menina? Fique à vontade.
Ele tentou acender um cigarro, mas sentia-se nervoso por ver a mulher simplesmente parada ali, sorrindo como uma estátua esculpida em pedra. Talvez a dama de vermelho fosse mesmo débil mental...
O que ele precisava era mesmo de um trago. Um bom trago antes do jantar, num daqueles bares de alta classe, meio escuro e sossegado. Pacífico como uma igreja. Um lugar onde se podia relaxar e beber sossegado. Frankie levantou.
— Espere aqui. Vou descer até o saguão e comprar um jornal.
Ela não tentou impedi-lo... apenas sorriu. Frankie desceu e foi para o bar. O bartender perguntou-lhe o que ia ser e Frankie quase respondeu "Um copo de zurrapa", antes de se lembrar que não mais precisava tomar vinho moscatel ordinário.
— Uísque com gelo.
O gosto era ótimo e Frankie disse ao bartender:
— Repita a dose.
O cara atendeu. E o segundo também tinha um gosto bom. Tudo era bom ali. A semi-escuridão suave e agradável, a música de fundo. Um cara podia relaxar.
— O mesmo — disse Frankie ao bartender.
Ele estava se sentindo melhor a cada momento que passava. Por que não? Com sua sorte, nada poderia sair errado. Nem mesmo com a dama de vermelho.
Ou por causa da dama de vermelho.
A coisa ocorreu-lhe no terceiro drinque. Estava pairando no fundo de sua mente durante todo o tempo e com o terceiro drinque não parecia mais um absurdo. A dama de vermelho era a Dama Sorte.
— Mais um! — pediu Frankie ao bartender.
O que mesmo que o velho Professor dissera? Talvez ela aparecesse quando se acreditasse nela com plena convicção. E ele estava se sentindo assim na noite passada. Era um negócio meio maluco, mas a sorte também era meio maluca. Como o Professor dissera, alguns caras encontram todas as oportunidades, enquanto outros acabam sempre quebrando a cara.
Fazendo sentido ou não, acontecera com ele. Tinha a Dama Sorte exatamente onde a queria, bem a seu lado.
— Mais um — disse Frankie.
Era a sensação mais estranha e mais sensacional do mundo, apenas ficar sentado ali e saber que a sorte estava com ele agora, sorrindo-lhe. A sorte cega, a sorte estúpida, mas sempre sorrindo. Pronta para lhe dar tudo e qualquer coisa que quisesse.
Frankie pensou em todas as coisas que desejara, durante todos os anos em que ficara desejando. Um daqueles carros ingleses espetaculares. Talvez uma casa nos bosques, com um lago particular para pescar. E quando estava numa boa, queria uma loura mais do que qualquer outra coisa. Como a que estava sentada na extremidade do balcão.
Era alta, as pernas à mostra. Usava uma dessas piteiras elegantes e tinha classe estampada da cabeça aos pés. O tipo de boneca que Frankie jamais tivera a coragem de olhar sequer duas vezes.
Mas agora... por que não? As coisas eram diferentes agora. Estava com a sorte do seu lado. Se quisesse alguma coisa, poderia ter. Talvez ela tivesse mandado a loura de propósito, sabendo como ele se sentia.
Era isso mesmo. Tudo o que ele precisava fazer era se inclinar e dizer: "Aceita um drinque, meu bem?" Ou talvez: "Não gostaria de tomar um drinque?" Assim ficaria melhor, com mais classe.
Parecia ter mais classe, sem dúvida. E também funcionava. A loura estava se aproximando. Frankie levantou-se, sentindo-se um pouco tonto, ajudou-a a sentar-se. E depois sentou-se novamente, pediu outro drinque, sentindo-se bem, muito bem.
E continuou a se sentir cada vez melhor. Era fácil falar agora. O nome dela era Margot. Não Margaret, mas Margot. Só que se dizia "Margô", o "t" era mudo. Mudo como a dama de vermelho, esperando lá em cima. Talvez ele devesse subir para lhe fazer companhia. Mas para quê? Ela não comia. Não se precisava alimentar a sorte. A sorte era gratuita, tudo agora era gratuito e fácil.
Também era fácil conversar com Margot. Era fácil dizer-lhe como ele era um cara de sorte. Como tudo em que tocava se transformava em ouro, como o tal de Rei Midas ou qualquer que fosse o nome dela.
Frankie foi falando e os dois foram bebendo. E ele contou como acabara de se instalar ali, como impedira o assalto e como ganhara toda aquela grana na noite passada. Só que aquilo era apenas o começo, espere para ver.
A loura disse que gostaria de fazer isso mesmo, esperar para ver. E chamou-o de "Frankizinho", disse que receava estar ficando um pouquinho tonta de tanta bebida.
Foi então que o bar começou a se encher. E Frankie sugeriu: que tal pegar uma garrafa, levar para o quarto e beber em paz?
E a loura disse que não sabia se devia, mas Frankie percebeu que ela estava apenas fazendo doce, não demorou muito para que dissesse sim.
O bartender embrulhou a garrafa e a loura carregou-a, pois Frankie tinha alguma dificuldade em andar. Subiram a escada, Frankie se apoiando nela, sentindo como a sua pele era quente por baixo do vestido. E ele teve certeza que era isso o que estava querendo, mais do que qualquer outra coisa.
Mas ele se lembrou no corredor e disse a Margot que ficasse esperando ali por um momento. Ele virou a esquina do corredor e avançou até a sua porta.
Frankie abriu-a. Ela ainda estava sentada ali, sorrindo-lhe... não mexera um só músculo desde que ele partira. Frankie cambaleou na direção dela e disse:
— Obrigado, um milhão de obrigados. Mas você tem de sair agora ou ela vai vê-la. Queremos ficar a sós, entende?
Ela simplesmente continuou sentada ali, sem ouvir. Frankie então levantou-a e empurrou-a na direção da porta. Era como arrastar uma estátua, mas ele conseguiu. E foi empurrando-a pelo corredor, passando pela esquina, torcendo para que ela não visse a loura.
Só que ela deve ter visto, porque o fitou e parou de sorrir. Ficou parada ali, os olhos pretos com uma expressão impassível, como se olhasse através dele. Frankie tentou sorrir e deu-lhe um pequeno empurrão murmurando:
— Vá em frente. Volte amanhã. Seja uma boa menina.
E no instante seguinte ela estava se afastando e Frankie estava se afastando, para pegar a loura e levá-la para o quarto.
— Com quem você estava falando? — perguntou Margot. — Com você mesmo?
— Não importa.
Ela não se importava e tomaram um trago juntos. E só para provar que não estava inventando, Frankie mostrou o seu rolo de notas.
Depois disso, as coisas ficaram ainda melhores entre ele e a loura. Ela disse que gostava muito dele, muito mais do que apenas um bocado. Mas Frankie estava num porre tão grande e com tanto sono que tinha dificuldade em manter os olhos abertos.
Uma coisa esquisita, nesse momento teve a impressão de ouvir alguém batendo na porta. Calculou que talvez fosse a dama de vermelho. Mas ele apagou antes que pudesse sequer tentar descobrir quem era.
Quando Frankie acordou, já era de manhã, o dia claro. A loura sumira. E a grana também sumira, assim como a sua bagagem nova. Ele encontrou um dólar e 34 cents em moedas no bolso de trás da calça do terno. E isso era tudo o que você tinha agora, meu chapa.
E a coisa não ficou por aí. Antes que Frankie tivesse tempo de se recuperar do choque, o gerente estava ao telefone se queixando, dizendo-lhe que deveria se retirar do estabelecimento imediatamente, por ter perturbado os vizinhos na noite anterior.
Frankie tentou dizer que, neste caso, queria uma devolução do dinheiro que pagara adiantado, lembrando que um dólar e 35 cents era tudo o que lhe restava. Mas o gerente disse que só mais uma palavra e chamaria a polícia. Além do mais, não queria ter como hóspede um ex-condenado.
A cabeça de Frankie estava girando, ele não podia imaginar como o cara sabia disso.
Só descobriu quando desceu e comprou um jornal, vendo a notícia sobre o assalto: EX-CONDENADO IMPEDE ASSALTO. Frankie leu a notícia por baixo, toda a seu respeito. E toda mesmo, porque algum repórter espertinho devia ter vasculhado os arquivos para descobrir alguma coisa sobre Frankie e acabara encontrando as notícias publicadas na ocasião em que ele fora encanado.
Assim, não havia agora o menor sentido em procurar Chesley para começar no emprego. E toda a grana também se fora, tudo por causa daquela loura traidora...
Não tinha mais nada. E daí? Era apenas parte do jogo. Ele podia arrumar mais, com a sua sorte.
Com a sua sorte.
Mas ela também se fora! E ela era a sorte!
Devem ter pensado que Frankie estava louco quando ele correu para o Ardmoor e pôs-se a gritar com o gerente, perguntando por uma dama de vermelho. É claro que o gerente não a vira. Ninguém a vira. Absolutamente ninguém, à exceção de Frankie.
Ele voltou ao restaurante e ao velho albergue, foi a todos os lugares por que passara. Ninguém pôde lhe dizer coisa alguma.
Como fora mesmo que o velho Professor a chamara? Fortuna, a deusa volúvel e caprichosa. Volúvel. Só que ele é que fora volúvel. Trocara-a por uma loura, expulsara-a por causa de uma loura traidora e ladra.
Frankie passou o dia inteiro a subir e descer as ruas, procurando pela dama de vermelho. Mas não a viu em parte alguma. Os pés se cansaram, a cabeça doía, mas ele continuou a andar, falando consigo mesmo.
Decidiu finalmente experimentar a taverna. Foi lá que a encontrara. Ela poderia estar na sala dos fundos, onde girava a Roda da Fortuna.
Estava escurecendo e Frankie estava arrasado. Com a sua ressaca e tanto andar, com aquela sensação esquisita dentro dele... sem saber mais o que era ou não real... ele mal podia ver.
Estava cerca de um quarteirão da taverna quando se empertigou de repente, piscando os olhos. Alguém estava saindo pela porta da frente e parecia a dama de vermelho.
Frankie começou a correr. A dama se afastava depressa e desta vez ele podia ouvir o barulho dos saltos altos. Agora que estava mais perto, podia constatar que não era a dama de vermelho.
E foi então que ele percebeu quem era... a loura, Margot! Ela estava lá dentro, jogando na roleta com a grana dele!
Ela se afastava rapidamente na outra direção e ainda não percebera que Frankie corria para cima dela. Ele alcançou-a na entrada de um beco, o que também foi ótimo.
Frankie sabia agora que podia não ter visto a dama de vermelho naquela manhã, mas ela continuava em sua companhia. Não restava a menor dúvida de que fora ela quem providenciara para que encontrasse Margot novamente. A sorte ainda estava do seu lado.
E ele sabia exatamente o que devia fazer.
Frankie estendeu a mão e agarrou a loura pelo rabo-de-cavalo, puxando-a rapidamente para o beco. Ela se virou e viu-o, a boca se escancarando, os olhos se arregalando, a tal ponto que não podiam ficar maiores.
— Onde está a grana? — gritou Frankie, puxando-lhe a cabeça para frente e para trás. — Onde está minha grana?
A loura não podia responder, porque ele a estava sacudindo com muita força. Mas a bolsa escapuliu de sua mão e foi bater no muro, abrindo-se. Batom e outras coisas assim se derramaram pelo chão. Ela apontou na direção da bolsa, ofegante.
Frankie deu-lhe um último empurrão, furioso. Ficou de joelhos e vasculhou as coisas que haviam caído da bolsa. Encontrou apenas um ou dois dólares em moedas.
— Você perdeu! — berrou Frankie. — Perdeu tudo! Nunca vi tanto azar...
Foi então que Frankie olhou para a loura.
Ela estava sentada no chão do beco, onde caíra, as costas contra o muro. Quando Frankie lhe dera o último empurrão, ela batera com a cabeça, batera com toda força, porque havia sangue escorrendo pelo lado do seu rosto.
Frankie inclinou-se e estendeu a mão para apalpar-lhe a testa. Mas a cabeça pendeu para o lado no instante em que a tocou e Frankie compreendeu que a loura estava morta.
Frankie saiu depressa do beco. Queria correr, mas não tinha lugar para onde ir. Quando encontrassem a loura, sabia que seguiriam a pista dela até o hotel, iriam identificá-la e fazer a ligação com ele, mais cedo ou mais tarde. E com o tremendo azar que vinha tendo ultimamente, podia muito bem ser mais cedo.
Frankie tinha na mão um monte de moedas. Talvez desse para pagar um ou dois tragos. Ele desceu o quarteirão, entrou na taverna, foi ocupar o seu banco habitual.
O velho Professor estava ali e Frankie sentiu vontade de contar-lhe a história. Queria contar-lhe porque talvez o Professor pudesse definir alguma coisa que era muito importante. Existira realmente uma dama de vermelho ou tudo não passara da imaginação de Frankie?
E assim Frankie começou a falar com o Professor, bem depressa, despejando tudo. O Professor estava num tremendo porre, exatamente como Frankie na noite anterior. Mas ele parecia ter entendido tudo, pois murmurou:
— Está tudo na sua mente. Alucinação. A realidade nesses casos se torna puramente subjetiva. Mas existe um mundo objetivo? Esta, meu atormentado amigo, é a questão.
E foi nesse momento que ele pôs o copo em cima do balcão e olhou para a porta da sala dos fundos.
— Espere um instante — disse o Professor. — A quem ela está chamando?
— Não estou vendo ninguém — respondeu Frankie.
— Então ela deve estar procurando por mim.
O Professor desceu do banco e cambaleou na direção da porta. Por um momento, Frankie viu-o parado ali, mexendo os lábios e gesticulando como se estivesse falando com alguém. Depois, ele acenou com a cabeça e manteve a porta aberta para que alguém passasse na sua frente, entrando na sala dos fundos, onde a sorte imperava.
Frankie ainda não podia ver ninguém. Mas depois lembrou-se do que o Professor dissera a respeito da Fortuna, que era uma deusa volúvel e tudo o mais. Assim, talvez ela tivesse agora um novo amigo, que talvez a tratasse melhor. Por outro lado, o Professor poderia ter contraído aquela alucinação dele, da mesma forma como se contrai sarampo ou uma gripe. Talvez ambos estivessem doidos. Talvez toda a coisa estivesse apenas na imaginação deles.
Talvez ele tivesse até imaginando ter assassinado a loura. A esta altura, Frankie não sabia mais em que acreditar. Até que de repente ouviu as sirenes lá fora e compreendeu que pelo menos uma parte dos acontecimentos das últimas 24 horas não fora imaginação sua.
As sirenes foram se tornando cada vez mais altas e Frankie levantou o copo.
— À sorte! — disse ele.
E foi nesse instante que os tiras entraram.
A FUGA PARA O NADA - Evans Harrington
Fumando cachimbo, o Sargento Bryan estava parado na porta de seu gabinete, no canto do vasto saguão de concreto, observando as filas de presos em uniformes listrados entrarem nas celas, entoando seus números monotonamente, arrastando os pés apaticamente. Do refeitório de onde emergiam, eles formavam um V meio em curva, avançando interminavelmente para as portas das celas, nos dois lados do saguão. Em seu estado de espírito desligado, ligeiramente perturbado, o Sargento Bryan teve uma imagem momentânea de robôs desconsolados, listrados, perseguindo-se através do concreto. Mas depois ele viu Mike Dunham e expulsou todas as fantasias de sua mente.
— Dunham! — chamou ele, fazendo um gesto com a cabeça na direção do gabinete, virando-se e entrando.
Ele sentou-se atrás de sua mesa e inclinou a cadeira giratória para a frente, até poder apoiar os cotovelos gorduchos no tampo, confortavelmente. Era um homem corpulento, de meia-idade, o rosto avermelhado, olhos azuis suaves. Os cabelos louros estavam ralos no alto da cabeça e começando a ficar brancos. Aninhava o cachimbo nas mãos rechonchudas, saboreando-o com pequenos movimentos dos lábios, enquanto observava o rapaz bonito, de cabelos pretos, passar pela porta.
— Sente-se, Dunham.
— Obrigado, mas prefiro ficar de pé.
O Sargento Bryan sugou o cachimbo mais vigorosamente. Dois filetes de fumaça pairaram sobre os lábios e o nariz fino e curto. Nos 15 anos em que estava encarregado do Campo Onze da Penitenciária de Warren não se lembrava de outra ocasião em que ficara tão emocionalmente envolvido, tão cedo, com um dos presos. O rapaz tivera agora a sua terceira briga em menos de três semanas que estava ali e o Sargento Bryan se debatia com um desejo de vingança que lhe era raro.
— Está certo, Dunham. Vou ser breve. De qualquer forma, acho que você já sabe qual é o problema.
— Acho que sim. Mas, mesmo assim, é melhor dizer, apenas para se tornar oficial.
Bryan sentiu o rosto inchar, esquentar. Ele baixou os olhos azuis. Era sempre assim. Tinha a maior dificuldade até para falar com o rapaz. E ele pensou novamente em James Hall, o homem que aquele garoto assassinara. O Sargento Bryan, como todos os demais habitantes do Estado, ao que ele supunha, acompanhara o caso Hall-Dunham pelos jornais, o que era parte do motivo pelo qual experimentava aquele irritante sentimento de culpa, relacionado com a sua dificuldade em lidar com o rapaz. Pois desde o início que ele sentira aversão contra o rosto moreno bonito que o fitava das fotografias dos jornais. Lera todos os detalhes de como aquele rapaz violento, aquele garoto super-desenvolvido, que em apenas dez lutas como profissional se tornara uma espécie de celebridade no mundo do boxe, desafiara todas as súplicas e finalmente ordens de James Hall para que deixasse sua filha em paz. Finalmente ele fora à casa de Hall ("invadira o seu lar", conforme dissera um repórter, uma frase que o Sargento Bryan julgava plenamente apropriada). E quando Hall lhe ordenara que se retirasse, Dunham o derrubara e matara. Uma audácia ultrajante, o Sargento Bryan sentiu mais do que pensou. Não era um homem acostumado a adjetivos pomposos, mas sua mente, as próprias glândulas, conheciam a substância de tais palavras. O Sargento Bryan tinha uma filha apenas dois anos mais moça do que Nona, a filha de James Hall. E ela já estava começando a levar para casa rapazes estranhos e corpulentos, que o Sargento Bryan jamais vira antes e de quem não gostava.
— Dunham, posso gostar da maioria das pessoas, de um jeito ou de outro.
— Isso é ótimo — disse o rapaz, antes que Bryan tivesse tempo de concluir seu pensamento.
Bryan puxou o cachimbo com força, tirou-o da boca, aspirou fundo, recostando-se na cadeira giratória.
— Está certo. Não posso ajudá-lo. E acho que nem ao' menos quero ajudá-lo. Vai para a Cama da Frente. E quero ver se é tolo o bastante para tentar escapar de, lá.
A Cama da Frente era o equivalente à solitária na penitenciária rural. A primeira cama de cada lado da galeria era reservada aos incorrigíveis. Quando não estavam trabalhando nos campos, os presos que gostavam de criar encrencas ficavam confinados ali, a não ser para comer e ir ao banheiro. O Sargento Bryan usava o método o mínimo possível. Achava que os presos já tinham uma vida bastante difícil e sempre ficava ao lado deles, se fosse humanamente possível, se tivesse qualquer chance para isso. Mas aquele rapaz, com sua indiferença e insociabilidade, sua aparente ansiedade em usar os punhos de profissional, a hostilidade explosiva, não lhe dera a menor chance.
— Muito obrigado — disse o rapaz. — Posso ir agora? Bryan teve de fazer um esforço para evitar que o rosto ficasse vermelho e os olhos brilhassem de raiva.
— Pode, sim. E é melhor mesmo.
Ele ficou observando o vulto de ombros flexíveis atravessar o saguão na direção da galeria das celas.
Ele pode se dar bem com a maioria das pessoas de um jeito ou de outro, estava pensando Mike Dunham, porque a maioria das pessoas se comporta de maneira subserviente de um jeito ou de outro, deixando-o pensar que é Deus. Eram todos iguais, todos aqueles velhos de cara insinuante, sem problemas, desconfiados, dissimulados. Mr. Hall, o pai de Nona, fora assim. Mike pensava às vezes que o Sargento Bryan o lembrava Mr. Hall. Até mesmo a cor dos cabelos era parecida, loura, começando a embranquecer. E os cabelos de Mr. Hall também estavam ficando ralos no alto da cabeça. Em determinadas ocasiões, quando o Sargento Bryan fitava-o com uma hostilidade suave, relutante, Mike via o rosto branco e morto de James Hall, caído contra a coluna de concreto da varanda, na qual fora bater quando recebera o soco. Algo que beirava o pânico dominava Mike, a tal ponto que não poderia responder ao sargento, mesmo que quisesse. Mas não queria. Eram todos iguais, uma conclusão a que ele já chegara há muito tempo: o tira que o prendera, o promotor distrital, o juiz em seu julgamento, os 12 jurados complacentes, às vezes até mesmo o seu advogado. O mundo era dominado pelos velhos hipócritas e ele estava condenado desde o início. Agressão com intenção de matar. Prisão perpétua. E disseram-lhe que tivera sorte por não ter pegado a cadeira elétrica. Tudo por causa do velho de cara insinuante, desconfiado e dissimulado, que se recusara a sequer ouvi-lo ou a sua filha, talvez mesmo à própria mulher... porque a Sra. Hall confiara em Mike, pelo menos até o acidente.
Keg Wilson, o chefe da gaiola, estava sentado na cama de Mike. Havia cinqüenta e tantos prisioneiros em cada cela grande. Era perigoso demais ter um preso privilegiado armado, representando a direção da penitenciária lá dentro, ou mesmo um guarda, especialmente depois que as luzes eram apagadas. Assim, um dos presos assumia a função de manter a ordem e era chamado de chefe da gaiola. E é claro que ajudava se ele fosse mais gorila do que humano. Keg Wilson, ex-leão-de-chácara e capanga de uma quadrilha que explorava o jogo na costa do Golfo do México, era a escolha mais óbvia para a função, pensava Mike. E Keg, como todos os demais na galeria, ao que parecia, estava obviamente ansioso por uma oportunidade de acabar com a reputação que Mike trouxera dos ringues. Três homens já haviam tentado, e Mike estava ficando cansado.
— Recebeu o aviso? — perguntou Keg Wilson, quando Mike se aproximou.
Ele não se levantou, limitando-se a espreguiçar-se. Mike disse:
— Recebi. E agora saia da minha cama.
Wilson estava recostado, um cotovelo apoiado no travesseiro de Mike. Ele sorriu jovialmente, sem se mexer.
— Não acredito que tenha recebido. Não está parecendo.
— Recebi, sim. Mas pode me dar o aviso de novo, se isso o deixa feliz. Antes, porém, saia da minha cama.
Keg Wilson continuava a sorrir. Poderia até ser bonito, se não fosse pelo fato de tudo ser grande demais: os malares salientes, o nariz reto, os lábios imensos que pareciam esculpidos no rosto, todas as feições impecáveis, só que nas dimensões de uma estátua.
— Acho que não entendeu direito, companheiro — disse ele. — Você está liquidado, domado. O resto pertence ao passado.
Ele continuou a não se mexer. Mike chegou mais perto.
— Estou suplicando, de tão apavorado. Todo mundo pode me ouvir. E agora saia daí.
Keg Wilson continuou imóvel.
— Ou?
— Estou apavorado demais para "ous". Você é a tropa de choque de Herr Bryan. E agora trate de se levantar.
— Você fala como se não fosse essa a sua intenção — disse Keg, ainda sorrindo. — Eu gostaria de ouvir o "ou".
Mike queria realmente evitar, assim como quisera evitar a briga no início daquela tarde. Sabia que não havia o menor sentido naquelas brigas. Contudo, a exultação... aquela comichão agradável nas mãos, braços e peito, uma sensação de alívio por ter algo em que descarregar sua raiva... era tão inebriante que ele quase cometeu o erro de bater naquela cara imensa. Seria um terrível erro, conforme ele podia perceber pelo sinal de alerta nos olhos castanho-amarelados de Keg. Mike sabia que aquela não seria apenas uma briga, mas algo que só se podia começar se se quisesse ir até o fim. Ele já vira Keg em ação. E vira Arnold Foley falar demais e acabar no hospital, sem nenhum dente, uma face afundada, três costelas quebradas. Keg era rápido e gostava de brigar. Podia não ter a experiência de ringue, mas tinha 15 quilos a mais que os 85 quilos de Mike. Além do mais, como ele gostava de brigar, Mike teria de bater-lhe o bastante, machucá-lo de verdade. E a questão era apenas uma: poderia fazê-lo?
Ele estava agora de pé ao lado da cama, enquanto Keg continuava deitado, apoiado nos cotovelos, ainda sorrindo, esperando pelo movimento do adversário... um tapa ou um soco. Mike compreendeu que não importava qual fosse o golpe, pois aquelas mãos imensas, de dedos compridos, lhe pegariam o braço, talvez quebrando-o, derrubando-o, antes que o tapa ou o soco atingisse o alvo. Flexionando os ombros, em parte pelo hábito do ringue, em parte para enganar o oponente, Mike subitamente chutou a canela direita de Keg, com toda força. Quando a cara imensa de Keg inclinou-se para a frente, Mike desferiu uma violenta joelhada, ao mesmo tempo em que golpeava o pescoço com as mãos cruzadas. Keg tombou para a frente e Mike repetiu o processo. Outra vez Keg tombou para a frente e outra vez Mike golpeou-o. Mas Keg estava se levantando e avançando, cabeça abaixada, o sangue a escorrer. Havia sangue também na perna da calça listrada de Mike. Os braços compridos de Keg estenderam-se para a frente, no direção de Mike, tentando encontrá-lo.
Mike sentiu-se tentado a abandonar a briga nesse momento. Esse sempre fora o seu ponto mais fraco. Mesmo no ringue, perdera um ou dois nocautes por causa disso. Não gostava de massacrar os adversários. Muzzy, seu manager, lhe dissera que isso algum dia ainda o meteria em encrenca. Mas Muzzy estava enganado. Mike sempre podia ir até o fim, quando precisava. E era o que tinha de fazer agora, recuando dos braços a tatearem, socando até que Keg finalmente caiu de costas na cama e rolou para o outro lado, batendo de cabeça no chão, virando de barriga para baixo, até ficar imóvel. Mike deitou na cama, respirando fundo, até que a náusea intensa se dissipasse..
Ninguém mexeu em Keg. Todos foram olhá-lo, mas ninguém tocou nele ou falou. Keg nunca fora muito popular. O Sargento Bryan já fora para sua casa, no outro lado da estrada. O preso de serviço no saguão não se preocupava com os dormitórios que estavam quietos. E por muito tempo aquele permaneceu quieto.
Depois que a náusea passou, Mike levantou-se e foi ao banheiro. Keg estava se levantando quando ele voltou. Foi também ao banheiro, sem olhar para Mike. Mike pegou suas coisas e foi para a cama da frente, no lado direito. Estava deitado ali, com o braço por cima dos olhos, tentando afastar da mente todas as imagens, apagar até mesmo os pontos vermelhos em seus olhos, quando a voz indolente de Taylor Mann disse:
— Admirável, mas não muito inteligente.
Mike tirou o braço da frente dos olhos por um breve momento. Taylor Mann era esguio, o corpo bem proporcionado. Mike não o conhecia, exceto por ter ouvido o seu nome nas chamadas.
— Não enche — disse ele, tornando a pôr o braço em cima dos olhos.
— Eu esperava que pudéssemos conversar, ser amigos.
A voz de Taylor Mann era suave, de tenor, cuidadosamente enunciada. Como o rosto delicado, a voz também parecia estar rindo secretamente.
— Não enche — repetiu Mike. — Não estou a fim de conversa.
Ele sentiu a cama balançar ligeiramente e a voz suave, muito mais próxima, acrescentou:
— O que acha disso?
Mike sentou-se rapidamente, movendo-se para empurrá-lo para longe da cama. Mas Taylor Mann moveu-se ainda mais depressa. A mão saiu do bolso, apertando o botão da faca de mola, a lâmina se adiantando, antes que Mike tivesse tempo de levantar. Ele tinha olhos verdes bem grandes, que estavam agora úmidos e meio cerrados, fixados nos de Mike.
— Vamos com calma — disse ele, suavemente, a voz já não mais tão clara. — Não está mais lidando com um homem de Neanderthal.
E observando o rosto delicado, tenso, pálido sob a camada de bronzeado, Mike acreditou nele.
— O que você quer? — perguntou ele, sentado, apoiado nas mãos.
Taylor Mann passou a faca para a mão esquerda, baixou-a para o lençol entre os dois.
— Qual é a sensação?
— Qual é a sensação do quê?
Mann estava inclinado para a frente, os olhos verdes não mais semicerrados, mas relaxados, com uma expressão pensativa.
— Qual é a sensação de espancar um homem brutalmente? De chegar às últimas conseqüências como membro da espécie do Homo sapiens?
— Vá à merda. Vou lhe tomar essa faca, se não tiver muito cuidado.
Taylor Mann sorriu indolentemente.
— Acredito em você. Sei que tentaria, mesmo tendo certeza de que eu lhe cortaria a garganta. Mas, por favor, não faça qualquer movimento precipitado. Creio que posso compreendê-lo.
— Muito obrigado, mas não preciso da sua compreensão.
— Mas claro que precisa. Está precisando da compreensão de todo mundo, de nosso bom Sargento Bryan, de sua ex-noiva Nona Hall, até mesmo do pai dela, o falecido James. Ele também precisa compreender que você não tencionava matá-lo, que não era a imagem típica e corriqueira do pugilista, desprezível e perdulário, uma ameaça à sua filha projetada por sua imaginação de classe média...
E lá estava a imagem novamente, a imagem daquela noite na varanda da frente da casa dos Halls. Iam pedir-lhe naquela ocasião. Mas ele saíra, devia tê-los ouvido subindo os degraus para a varanda. E Mike estava beijando Nona... os lábios tão macios... o pai dela agarrara Mike por trás, parecendo muito com o Sargento Bryan, parecendo com todos eles, as unhas machucando e assustando Mike, cravando-se em seu pescoço. E Mike acertara-o, não com muita força, refreando o golpe mesmo enquanto o desferia, lembrando a si mesmo, O pai de Nona! Mr. Hall! Chegara mesmo a gritar "Não! Cuidado!", enquanto a cabeça grisalha se aproximava da coluna de concreto. Mas era tarde demais...
— E os homens aqui também não o compreendem — Taylor Mann estava dizendo. — Pensam que você está orgulhoso do que fez. E parece mesmo orgulhoso. Mas isso acontece porque é tão jovem e bonito. Representa um desafio para cada um de nós.
O riso estava novamente na voz dele e nos olhos verdes. Mike fez um movimento em sua direção, mas Taylor Mann prontamente levantou a faca, dizendo:
— Eu falo demais, não é mesmo? E a coisa que lhe interessa, que interessa a todos nós, é a nossa partida.
— Partida?
— Isso mesmo. Espero que já tenha compreendido que não há futuro para você aqui, pela maneira como antagoniza o nosso bom Sargento Bryan e a todos os outros. Sua sentença foi de prisão perpétua. Tenho certeza de que o sargento não prevê o seu livramento condicional depois de dez anos. Não vai querer ficar aqui e dar performances gratuitas de boxe todas as semanas, até que alguém o mate, especialmente quando posso lhe oferecer o México, América do Sul, todo o famoso paraíso dos trópicos.
— Está pensando numa fuga?
— Está vendo? Eu sabia que você tinha massa cinzenta. É o coroamento de nossa raça, a perfeita culminação de uma sociedade feudal industrializada: músculos, coragem e uma inteligência ágil e sagaz. É por isso que me fascina. Seu amigo, o Sargento Bryan, também me fascina. Ele é o exemplar típico de um bom homem, absolutamente convencido de que sabe o que é certo.
Mike recostou-se na cama.
— Eu disse para não me encher. Pois é justamente o que está fazendo. As suas palavras nem mesmo fazem algum sentido. Além do mais, as tentativas de fuga são sempre estúpidas. Nunca dão certo.
— Ao contrário, estão sempre dando certo. Há menos de dois meses, um garoto do Campo Oito, um garoto muito parecido com você, conseguiu fugir sozinho.
— Outra coisa — disse Mike. — Por que logo eu? Além de meus músculos, cérebro e fascinante coragem?
— Você está falando em tom de brincadeira, mas acabou de responder tudo. Infelizmente, uma fuga exige coragem. E, mais infelizmente ainda, toda a minha coragem parece estar concentrada no estômago.
Ele tentou sorrir enquanto falava, mas seus olhos não estavam sorrindo.
— Qual é o seu plano?
Mann não descreveu os detalhes, apenas falou em linhas gerais. É que, na ocasião, Mike ainda não estava preparado para acompanhá-lo. Em primeiro lugar, havia a sua relutância em cometer um ato realmente criminoso. Como Mann compreendera, ele não era um simples arruaceiro. Aprendera a lutar boxe na escola e no serviço militar e não nas ruas e nos ginásios da cidade. Sempre planejara largar o boxe e entrar na universidade. Era o que ele e Nona planejavam. Em segundo lugar, havia a sua aversão generalizada a fugas. Os fugitivos não eram sempre recapturados? Ou então não viviam permanentemente acossados, quando conseguiam escapar? Mesmo com o plano aparentemente infalível de Mann e a sua promessa de que haveria ajuda e um barco para a América do Sul à espera em Nova Orleans, Mike continuava cético. Depois, havia também o próprio Taylor Mann, um homem bastante estranho, dando às vezes a impressão perturbadora de estar apartado de tudo, como se não estivesse ali, como se estivesse rindo de tudo, até de si mesmo. Mike não gostava da idéia de se unir a um homem assim.
Mas a situação de Mike não melhorou durante a semana seguinte. Ao contrário, piorou, depois que o Sargento Bryan soube da briga com Keg Wilson. O sargento postou um guarda do lado de fora do dormitório, com ordem para atirar em Mike, se ele tentasse deixar a cama da frente sem permissão. E assim, numa segunda-feira, nos campos, Mike fez um sinal para Mann, que prontamente foi ficar atrás dele na plantação de algodão em que trabalhavam.
Escolheram um sábado, porque era a única manhã em que Mann não trabalhava nos campos. Mann era o encarregado de fazer o inventário do campo, um trabalho que lhe exigia apenas meio dia por semana. Com a função, ele tinha as regalias parciais de um preso de confiança, que lhe permitiam andar à vontade pelos campos nessas manhãs. Ele era também um hábil falsário. Naquela manhã de sábado, Mann esperou até que Bryan iniciasse a sua inspeção diária do prédio, depois foi ao portão principal, mostrou ao guarda o bilhete que estava levando e saiu para os campos. Mike, trabalhando na enxada junto com os outros, observou furtivamente, enquanto Hunter, o motorista da prisão, olhava o bilhete. Mike sabia o que ele estava lendo: "Estamos precisando de Dunham aqui. Mande-o de volta junto com Mann, e um guarda armado." E depois a assinatura ilegível, "W. Bryan".
Tudo transcorreu perfeitamente. Hunter fez um gesto para Gibbs, o guarda armado extra, e berrou "Dunham!" pelo campo, em que já fazia um calor sufocante. Levando sua enxada, Mike encaminhou-se para o final da fila de presos, onde estava o grupo.
— Querem você lá na prisão — resmungou Hunter, relutantemente. — Gibbs vai levá-lo.
Mike deu de ombros e encostou a enxada no barracão de ferramentas e saiu atrás de Mann, que já começava a se afastar. Foi nesse momento, quando pôde observar o rosto pálido e os olhos verdes nervosos e semicerrados de Mann, que ele começou a se preocupar.
— Qual é o problema? — murmurou Mike, pelo canto da boca.
— Nada — respondeu Mann. — Fique de boca fechada. Era uma ordem estranha, porque o plano previa que falassem bastante, até chegarem à estrada e iniciarem a fuga. Caminhavam cinco passos à frente de Gibbs, de acordo com os regulamentos. O rosto de Mann estava terrivelmente pálido. E quando estavam ocultos do campo por um capão, cerca de dez metros da estrada, Mann virou-se abruptamente para Mike, gritando:
— Você é um mentiroso!
E Mann atacou-o. Mike bloqueou o golpe, os dois se engalfinharam e caíram. Mike ficou por baixo, conforme haviam combinado. Mann desferiu uma saraivada de socos nos braços e ombros de Mike, enquanto Gibbs se aproximava correndo, a arma levantada, a gritar:
— Parem com isso! Parem com isso!
Mike esperou até que Gibbs estivesse perto o bastante, depois empurrou Mann para longe e levantou-se de um pulo. Virou as costas para Gibbs, mas recuou rapidamente, até estar quase encostado no cano da espingarda. Virando a mão para trás bruscamente, ele empurrou a arma para o lado. E virou-se, acertando um soco em Gibbs, não no queixo, como planejara, mas logo abaixo, na garganta. Mike, segurando a arma, caiu por cima dele, rolando para o lado e levantando-se um instante depois. Enquanto se virava, freneticamente, meio esperando ouvir a explosão da espingarda, sentir o impacto da bala em seu corpo, ficou aturdido ao escutar em vez disso um pequeno baque, logo seguido pelo som estertorante da respiração de Gibbs. E viu o rosto elevado de Mann por cima de Gibbs, a mão se movendo por cima do peito do guarda, torcendo alguma coisa que faiscava ao sol da manhã e finalmente se desprendeu. A faca ergueu-se pelo ar e tornou a descer, com o pequeno baque que Mike ouvira antes. Mike correu, puxando Mann e gritando:
— Não! Não! Santo Deus! O que você está fazendo? Pois aquilo não estava absolutamente no plano. O próprio
Mike deveria deixar o guarda sem sentidos. Iriam amarrá-lo e amordaçá-lo, com cintos e lenços.
Mann não resistiu. A mão continuava a segurar a faca quando Mike puxou-o para longe de Gibbs. Mas deixou-a cair a cedeu por completo quando Mike o imobilizou, agarrando os pulsos frágeis. O rosto fino de Mann estava sereno, como se ele estivesse sonhando. Mike teve a sensação de que também estava sonhando que ele próprio era irreal, um fantasma num pesadelo grotesco, ao ouvir a voz indolente murmurar:
— Acabei fazendo. No final das contas, fiz mesmo.
Os olhos de Mann permaneceram fechados por mais um momento. E quando se abriram, fixaram-se em Mike com um sorriso nebuloso.
— Ah, o saudável animal! No final das contas, não é tão duro assim, não é mesmo? A morte assusta o animal, não é mesmo? O problema está nas suas glândulas, meu jovem e esplêndido animal, nos ecos ancestrais irracionais. É nisso que nós, os degenerados, somos finalmente mais fortes. Nossas glândulas são mais fracas, mas isso deixa a razão mais lúcida. A razão não fica horrorizada diante de cada cadáver.
Mike deu-lhe uma bofetada.
— Pare com isso! O que vamos fazer agora? Não podemos mais voltar atrás e Bryan estará em cima de nós daqui a pouco!
O rosto de Mann continuava a sorrir indolentemente, mas os olhos se desanuviaram.
— Em primeiro lugar, saia de cima de mim — disse ele. — E pegue o chapéu e a calça do cadáver. Você me dá nojo.
Estavam andando pelo lado esquerdo da estrada, cerca de um quilômetro e meio do campo. O Sargento Bryan, ao volante da pickup, indo buscar a correspondência, pensou que o homem grandalhão com a arma fosse Gibbs. Ele usava o chapéu de Gibbs e a calça com listras perpendiculares do preso de confiança que servia como guarda. Bryan não reconheceu o homem menor, caminhando cinco passos à frente. Parou ao lado deles, a fim de descobrir qual era o problema. Dunham, o rosto bonito muito pálido e protegido pelo chapéu de palha de Gibbs, virou subitamente, apontando-lhe a espingarda. O outro, Mann, contornou rapidamente a frente da pickup e entrou no banco ao lado de Bryan, espetando a faca dolorosamente na camada de carne por cima das costelas. Ele não disse nada. Os olhos verdes estavam enevoados, quase sorridentes. Bryan também não falou. Não havia necessidade.
Dunham subiu para sentar no outro lado de Mann, o rosto ainda pálido, demonstrando desaprovação. Era como se não pudesse acreditar no que via, para onde quer que virasse o rosto.
— Faça a volta e leve-nos até o rio — disse ele.
— Até o...?
Bryan não pôde concluir, pois a faca espetou-o e ele teve de prender a respiração.
— O rio — disse Mann. — Ouviu muito bem o que ele disse.
Movendo-se com cuidado, para evitar que a faca tornasse a espetá-lo com força, Bryan fez a volta com a pickup.
— Não passe dos 70 — ordenou Dunham.
Os olhos escuros dele fixaram-se constantemente em Mann, arriado no banco, o rosto sereno, os olhos enevoados.
— Dunham...
Bryan não pôde continuar a falar, contido pela dor produzida pela faca. As lágrimas de dor afloraram a seus olhos.
— Não fale — disse Mann. — Limite-se a guiar.
— Pare com isso! — disse-lhe Dunham. — Oh, Deus!
A voz dele não estava tão soturna como Bryan sempre a ouvira. Mann nem mesmo olhou para seu companheiro. Era como se estivesse cochilando, com os olhos ligeiramente entreabertos.
Foram seguindo em silêncio. A pressão constante da faca começou a inflamar todo o flanco de Bryan. Ele tentava não respirar muito fundo. Tentava pensar, mas não havia nada para pensar. Talvez devesse esperar por algum golpe de sorte, algum milagre. Podiam se encontrar com alguém que haveria de querer falar-lhe, podiam ter um pneu furado. Uma tênue esperança qualquer. Ele próprio jamais andava armado. Com 22 homens armados somente em seu campo, parecia-lhe desnecessário andar também armado. Só nas emergências é que ele se armava. Os dois poderiam escapar, a menos que tivessem muito azar. É claro que seriam recapturados mais tarde, mas pelo menos conseguiriam escapar. Mas ele podia sentir que havia alguma coisa errada, alguma coisa entre Mann e Dunham. Ele tentou imaginar o que acontecera com Gibbs, como os dois haviam se apoderado de sua arma e calça. Sentiu vontade de perguntar, mas a lembrança da faca dissuadiu-o. Além do mais, ele tinha o terrível sentimento de que sabia exatamente o que acontecera.
Eram apenas 13 quilômetros até o rio. Atravessaram a velha ponte de madeira, com a estrutura de ferro enferrujado.
— Faça a volta aqui — disse Dunham, ao passar ao lado de um milharal.
Bryan fez a manobra lentamente. Mann apertou a faca contra o seu corpo, sorrindo. As lágrimas voltaram a aflorar aos olhos de Bryan.
— Eu mandei parar com isso! — gritou Dunham. — O que você é afinal? Um maluco?
Mann continuava arriado no banco, sorrindo. Não olhou para ele. Parecia completamente relaxado. Entraram pelo milharal. Quando ficaram fora da vista da estrada, Dunham disse:
— Pare aqui.
Bryan obedeceu. Dunham saltou e contornou a pickup até a outra porta. Seu rosto ainda estava branco.
— Saia e tire as roupas — ordenou ele.
Bryan fez menção de falar, mas depois olhou para Mann. Ele continuava arriado no banco, como antes. Bryan saltou rapidamente. Esperava que Mann continuasse lá dentro, até os dois resolverem deixá-lo, e ir embora. Só podiam estar planejando deixá-lo vivo, se queriam que tirasse as roupas. Teve certeza de que seria assim mesmo, depois que ficou apenas de cueca e Dunham começou a amarrar-lhe os pés e as mãos, com pedaços de seu cinco.
Mas quando ele estava acabando de amarrar os pés, Taylor Mann saiu da pickup, lentamente. Dunham fitou-o e Mann sorriu. Dunham voltou a concentrar-se nos pés de Bryan, enquanto Mann pegava a espingarda que ele deixara encostada no pára-lamas. Mann deu um passo para trás. Dunham virou-se para fitá-lo.
— Afaste-se, Mike — disse ele.
Mann ainda sorria vagamente, mas seus olhos estavam agora desanuviados e frios. Dunham continuou a fitá-lo por um momento, ajoelhado. Depois levantou-se e indagou:
— Qual é o problema, Taylor?
Mann soltou uma risada e aproximou-se de Bryan.
— Sargento, o garoto está apavorado. No final das contas, o garoto não é tão duro assim. Ele pensa que vou matá-lo e está apavorado. Também está com medo, Sargento?
Bryan fez um esforço para manter a voz firme:
— Poderia estar, se pensasse que fosse mesmo me matar, que era tolo o bastante para isso.
Mann sorriu.
— Sou tolo o bastante, Sargento, pois vou matá-lo.
— Não! — gritou Dunham. — Não faça isso, Taylor! Não temos tempo! Não precisamos...
— E posso matá-lo também, garoto — disse Mann, a voz incisiva, alteando-se para igualar a de Dunham. — O garoto é supersticioso, Sargento, tem medo da morte. Já viu a morte uma vez hoje e está apavorado. Também é supersticioso, Sargento? Sempre se mostrou um homem muito seguro, muito certo de tudo. Fico imaginando se também tem alguma certeza em relação à morte...
— Taylor, pare...
Mann não deixou Dunham continuar, grilando:
— Vou matá-lo se gritar comigo outra vez, se não calar essa boca imediatamente.
Ele observou Dunham por um momento, depois virou-se e sorriu para Bryan.
— Alguma vez já matou um homem, Sargento? Sabe qual é a sensação? Matei um homem hoje e a sensação é ótima, agradável, vigorosa. Nunca havia me sentido assim antes. — Ele soltou subitamente uma risadinha involuntária. — Nunca pensei que fosse capaz de fazê-lo, Sargento. Afinal, sempre tive medo antes.
Ele riu de novo, antes de acrescentar:
— Está com medo, Sargento? Acho que está. — O riso parecia agora sair pelo nariz fino. — Sempre pensei que era o único covarde ou pelo menos um dos poucos. Mas descobri que todos somos covardes, grandes ou pequenos. E os caras mais durões são justamente os maiores covardes. Diga-me uma coisa, Sargento: o que está sentindo neste momento?
Ele estava agora aproximando-se de Bryan, depois de encostar a arma no pára-lamas.
— Sempre me interessou, Sargento. Continua tão seguro agora? Não sente um pouco de medo, um pouco de pânico? — Ele estava se ajoelhando por cima de Bryan, brandindo a faca suja de sangue. — Sempre pensei nas pessoas como você, Sargento. Será que conhece mesmo todas as respostas? Se conhece, pode dizê-las agora.
A risada, interrompida tão depressa que mal dava para se ouvir, voltou a soar.
— Se responder corretamente, posso até deixar a sua barriga inteira.
Bryan observava-o atentamente, tentando manter o rosto calmo, controlar a respiração, até mesmo o adejar dos olhos. A faca estava agora a poucos centímetros de sua garganta e ele sentia que qualquer movimento poderia romper o tênue controle que o louco ainda mantinha.
Da beira da estrada, onde fora se postar, Dunham disse, a voz resignada, fatalista:
— Taylor, tem gente vindo pela estrada.
E foi então que tudo começou a acontecer. Taylor virou-se rapidamente, meio se levantando. Bryan sentiu uma imensa esperança, e no instante seguinte compreendeu a verdade, ao ver Dunham saltar, pelo canto do olho. Mann esquivou-se para o lado, golpeando com a faca, a lâmina fina rasgando a camisa de Dunham, deixando em sua esteira uma trilha vermelha. Dunham foi bater contra o pára-lama e Mann correu para cima dele, golpeando novamente, desta vez logo acima do cinto, mais fundo. Dunham desferiu um soco, errando a cabeça a se afastar de Mann. E um momento depois Dunham estava avançando, cauteloso, enquanto Mann recuava e se esquivava, ameaçava com a faca. Bryan se contorcia nos pedaços de cinto que lhe prendiam os pulsos, meio frouxos, sentindo que cediam.
Os movimentos de Dunham eram agora mais lentos, a camisa estava encharcada de sangue, os braços e mãos retalhados de apararem os golpes da faca, como se fosse um punho enluvado. A mão de Bryan finalmente se desprendeu e ele pegou a arma, no momento em que Mann se desviou de um soco e atacou novamente com a faca. A guarda de Dunham estava lenta e a faca atingiu-lhe o peito. Mas sua mão direita acertou em cheio na cara de Mann, que cambaleou para trás. Mann não chegou a cair. Aparentemente sentindo que chegara o momento da vitória final, ele recuperou o equilíbrio e partiu novamente para o ataque. Foi nesse momento que Bryan o alvejou com a espingarda. Tinha a intenção de apenas feri-lo, disparando nas pernas. Mas sua mira estava prejudicada e Mann estava agachado, se balançando.
Dunham ficou olhando a bala fazer Mann girar bruscamente e depois arremessá-lo no chão. Virou-se, fitando Bryan vagamente. Olhou novamente para Mann, antes de cair.
Bryan desprendeu os pés e alcançou Dunham antes que ele desmaiasse. Os ferimentos do garoto não era graves e ele poderia salvar-se, se recebesse tratamento médico imediato.
— Vai ficar bom — disse ele, levantando Dunham e levando-o para a pickup.
Dunham fitava-o fixamente e tentava falar, embora Bryan não tivesse certeza se ele o reconhecia.
— Mr. Hall? — balbuciou Dunham finalmente. — Mr. Hall?
— Você vai ficar bom — repetiu Bryan. — Daremos um jeito de endireitar tudo.
E depois de ajeitá-lo na cabine da pickup, embora os olhos no rosto lívido e bonito estivessem fechados, Bryan acrescentou:
— Como eu disse, posso gostar da maioria das pessoas, de um jeito ou de outro.
INTERLÚDIO PARA HOMICÍDIO - Paul Tabori
O alto-falante limpou a garganta e uma voz de mulher disse, gentilmente:
— Senhoras e senhores, lamentamos informar que o Vôo 167 para Montreal será retardado em 90 minutos...
Através do vidro da janela da sala de espera superior, olhei para a pista. A moça estava sendo otimista, pensei. Um enxame de mecânicos espalhava-se pelas asas do Super-Constellation. Tudo indicava que ficaríamos retidos em Orly pelo resto da noite. Um motor estava completamente desmontado e eles começavam a trabalhar no segundo. A menos que usassem um avião de reserva...
Olhei para o relógio. Passavam 20 minutos das cinco horas. O crepúsculo de outono começava a se estender pela pista. Meia dúzia de refletores haviam sido acesos em torno do avião avariado.
Por um breve instante, fiquei imaginando se deveria pegar um táxi para Paris... a menos de 30 minutos de distância. Poderia dar sorte e encontrar Martine em casa. Mas também poderia não encontrá-la. E não era muito delicado aparecer inesperadamente na casa de uma namorada que não se via há seis meses. Além do mais, eu estava em ação desde as seis horas da manhã e não me sentia em forma para uma noite de alegria.
Assim, suspirei e tratei de repelir a tentação. Se tivesse sorte, acabaria o serviço que ia fazer no Canadá em menos de uma semana... e Paris era um lugar relativamente permanente no mundo, mesmo que tal não acontecesse com Martine.
Virei-me na direção da banca de jornais nos fundos da sala, no momento em que espocou a primeira rolha de garrafa de champanhe, por trás do biombo que ali havia. Alguns dos meus amigos juram que sou psíquico em relação a Moêt-Chandon e Veuve Cliquot, para não falar de Roederer ou Sillery. Dizem que sou capaz de determinar a safra somente pelo ouvido. Mas devo admitir que isso é um pouco de exagero.
O primeiro espocar foi seguido por outros. Parei de contar depois do sexto.
Aproximei-me do biombo, naquele jeito de quem não quer nada. Parecia uma festa. Dispondo de tempo bastante sem ter o que fazer, a idéia de me esgueirar para uma festa parecia atraente. Assim, passei para o outro lado do biombo.
Meu pressentimento estava certo. Havia uma mesa carregada diante das janelas, com seis garçons por trás. Eu já desembarcara ou decolara de Orly umas 40 ou 50 vezes. Por isso, sabia que aquele lugar normalmente fazia parte da sala de espera, com poltronas e um aparelho de televisão. Agora, fora transformada em algo diferente. Tinha o formato de L, com a parte menor terminando numa escada que levava ao saguão principal, no andar térreo. Nos fundos, alguém pusera um gravador numa mesinha. Havia também dois microfones e diversos refletores portáteis espalhados por ali. Tudo aquilo indicava a presença de algum VIP. Perguntei-me se o atual Primeiro-Ministro... já perdera a conta deles, como sempre... não estaria voando para algum lugar. Mas não havia agentes da Sûreté por ali... pelo menos algum que eu pudesse reconhecer, mesmo com o faro excepcional que desenvolvera na identificação dos chamados homens da lei.
A festa ainda não começara e somente três convidados haviam chegado. Um deles, um homem alto e magro, num terno vistoso, afastou-se da mesa, com um copo de champanhe na mão. Os olhos fundos se iluminaram ao deparar comigo e ele falou-me num tom misto de surpresa e prazer bem simulado:
— Ora, mas é Adam Venture em pessoa!
— Oi, Burt. — Burt Bachelor era o correspondente em Paris do Globe de Londres. — Está indo para algum lugar?
— Não. Estou apenas de visita. — Ele esvaziou o copo. — Por onde você andou nos últimos dez anos?
— Não foram dez anos, mas apenas seis meses. Estive procurando petróleo.
Ele estremeceu, não muito delicadamente.
— Era de se imaginar — murmurou. — Encontrou alguma coisa? Roubou algumas concessões?
Fiz um sinal para o garçom mais próximo, que me entregou um copo de champanhe. Era Veuve Cliquot... e de um bom ano. Bebi e me senti muito melhor.
— Está no lugar de sempre? — perguntou Burt.
— Não. Estou apenas em trânsito. Seguirei para Montreal assim que terminarem de consertar nosso avião.
Ele me fitou atentamente, os olhos se estreitando.
— Já entendi! — gritou ele subitamente. — Sua Majestade contratou-o para guarda-costas! Como pôde fazer uma coisa dessas, Adam? Sei que tem o hábito de se rebaixar... mas até esse ponto...
Eu não tinha a menor idéia do que ele estava falando e foi o que lhe disse. Mas quando Burt, afora isso um homem racional, tinha um palpite, grudava nele até o fim, por mais errado que fosse.
— Ora, Adam, entregue logo.
Estendi o copo para ser novamente enchido.
Por um momento, cheguei a pensar em deixar Burt se enforcar com a corda de sua própria astúcia. Não sabia quem era Sua Majestade ou por que precisaria de um guarda-costas. Se ficasse quieto, Burt acabaria fornecendo a informação. Mas levaria muito tempo. Por isso, preferi ser mais direto:
— Diga-me você.
Ele olhou ao redor furtivamente. Mas antes que pudesse falar, uma multidão irrompeu na sala. Acho que todo mundo sabe o que acontece em festas... num momento só tem duas ou três pessoas, no instante seguinte está atulhada. Uma mulher de nariz aquilino e olhos penetrantes abateu-se sobre Burt, levando-o para longe. Reconheci-a imediatamente. Era Ginette Latour, que escrevia uma brilhante coluna de mexericos para o Miroir. Aquela devia ser uma festa importante, pois Ginette não costumava comparecer a qualquer uma, reservando-se apenas para os grandes acontecimentos.
Fiquei tomando champanhe, espremido entre a mesa e um dos refletores portáteis. Avistei André Daumon, o crítico teatral, com seu nariz fino e o pincenê faiscante. Lá estava Monsieur Grosbeck, o gordo chefe de departamento da UNESCO, ao lado de uma das principais modelos de Balmain, uma garota alta e espetacular, com um ar de desdém aristocrático, o resultado exclusivo de sua miopia. Havia diversas mulheres cuja linhagem orgulhosa lhes dava o direito de serem afrontosamente deselegantes. Granard, o jovem diretor de cinema, estava acompanhado por uma starlet da Europa Central, cuja imagem aparecia mais freqüentemente em capas de revistas do que nas telas. Era uma festa grande, pensei, com uma insólita lista de convidados. O que o diretor da Comédie estava fazendo ali, assim como o Subsecretário do Ministério das Belas-Artes? Eu não conhecia nenhum dos dois sequer de vista, mas Granard, parado perto de mim, estava explicando quem era quem à sua amiguinha, num sussurro mais do que penetrante.
Eu me sentia absolutamente seguro como um penetra. Devia haver outros na mesma situação. Sempre há. Tornei a encher o copo, pela quarta vez. Isso mesmo, era uma festa grande. O champanhe era o melhor possível.
Alguém me cutucou no lado. Um rapaz alto, de pulôver e jeans, postou-se diretamente atrás do refletor.
Um homem alto, de terno escuro, estava abrindo um espaço em frente, ali armando um microfone de pé. Outro homem estava manobrando uma câmara sobre rodas. A cortina seria levantada agora a qualquer momento, pensei. E fiquei imaginando quem estaria pagando a conta.
E de repente houve uma explosão de aplausos e a multidão se entreabriu. Um velho corpulento, usando uma boina basca e casaco de veludo, avançou pela sala. Trazia uma bengala com castão de ouro maciço. Os lábios finos, no rosto raspado, estavam entreabertos num sorriso frio, o aro preto do monóculo lhe dava uma estranha aparência de pirata. Eu podia agora compreender do que Burt estava falando. Ninguém podia se enganar com aquele queixo quadrado, os dedos grossos, a presença real. Um rei que reinava sobre muito mais que um país. Em Paris, havia apenas um homem que tinha o apelido de Sua Majestade. Sa Majesté, como o chamavam os franceses. Começara com as iniciais de seu nome, Serge Maillot. S. M. As iniciais apareciam nos títulos de cada filme que ele produzia, dirigia, escrevia e estrelava, encimadas por uma coroa estilizada. A mesma marca aparecia nos cartazes e no programa de seu próprio teatro, que ele mantinha há 30 anos, no Boulevard Hausmann. Havia poucos dos seus bens que não exibissem a marca. Corriam rumores maliciosos de que a marca aparecia até em suas cuecas.
Mas um momento depois da entrada real, parei de pensar em cuecas com monogramas, Sua Majestade ou no motivo da festa regada a bom champanhe. Escoltada por dois rapazes, uma moça seguia Serge Maillot. Os cabelos cor de mel tinham um brilho avermelhado, havia um casaco de pele sobre o costume de viagem de corte austero. Uma pulseira de ouro cheia de berloques tilintava em seu pulso esquerdo. Eu a conhecia muito melhor do que a Burt, Monsieur Grosbeck ou qualquer outra pessoa na festa. O nome dela era Martine e apenas sete meses antes eu quisera casar com ela.
Quando conheci Martine, ela estava dançando no Boul'Blanche. Mesmo entre as beldades escolhidas criteriosamente do nightclub, Martine se destacava. Em suma, ela era uma coisa deslumbrante.
Tenho apenas 35 anos, mas Martine... sendo sensacional e tudo o mais... fazia-me sentir com 20 anos, o que é uma coisa maravilhosa para qualquer um. Quando pensava nela, eu usava a linguagem de um colegial. Martine só bebia champanhe. Ao amanhecer, quando o show terminou, ela seguiu direto para o pequeno hotel em que morava, na Rue Lhomond. Gostava de homem, mas não podia se dar ao luxo de tê-los, conforme explicou-me... pelo menos não até que se tornasse estrela do Casino ou do Tabarin. Por algum motivo, ela não pensava no Folies Bergères, não lhe dava muita importância.
E aparentemente também não me dava muita importância. Permitia-me que lhe segurasse a mão. Uma vez, depois que me ofereci para pagar suas lições de dança acrobática, ela beijou-me. Mas não tive permissão de retribuir o beijo. Um mês antes de ser convocado ao Oriente Médio, fiquei tão exasperado que a pedi em casamento. Ela ficou enternecida, mas disse que ainda não estava pronta para o casamento. Além do mais, eu podia sustentá-la? Garanti que podia, e Martine quis então saber por quanto tempo. O máximo que consegui arrancar dela foi a promessa de que "pensaria no assunto" quando eu voltasse de Bahrein. Martine nem mesmo prometeu escrever-me.
E agora ali estava ela, tão adorável quanto antes, parada ao lado de Sua Majestade, Serge Maillot, que era o rei não coroado do show business e tinha pelo menos 70 anos, já fora casado quatro vezes, sempre com mulheres uma ou duas décadas mais moças. Senti uma vibração premonitória. Não tive de esperar muito tempo para que a premonição se convertesse em certeza.
Maillot olhava para a multidão, que se transformara numa audiência. O rosto forte não mostrava muitas rugas da idade. O Subsecretário se adiantou. O homem alto, de terno escuro,, ajustou o microfone para a altura apropriada. Os refletores se acenderam. A câmara estava focalizada nos personagens principais. A cortina levantou.
— Cher Maitre — começou o Subsecretário, os polegares enganchados nas lapelas, na pose clássica dos oradores modernos. — Minha cara Madame Maillot...
Ele estava olhando para Martine e Martine sorriu... suavemente, recatadamente, como convinha a uma jovem esposa. Não sabia há quanto tempo eles estavam casados. Não lembrava qual era o estado conjugai de Sua Majestade por ocasião da minha partida. Estaria divorciado ou prestes a ficar? Mas essas coisas podiam ser arrumadas facilmente e com a maior rapidez, quando se era Serge Maillot.
— ... este é um grande dia para a França — continuou o Subsecretário, bastante animado e com disposição para falar pelo menos por 15 minutos. — Um dia de orgulho e de um pouco de tristeza. Está levando o nosso imortal Molière para o Novo Mundo. Molière e seu sucessor direto, seu herdeiro espiritual... isto é, você mesmo...
Houve aplausos. Maillot inclinou a cabeça graciosamente. Martine sorriu. O sorriso se tornara um tanto mecânico; se ela o mantivesse, mais um ou dois minutos ele se transformaria numa careta.
— Estamos orgulhosos porque a companhia de Serge Maillot está atravessando o oceano para apresentar o melhor do teatro francês aos nossos parentes no Canadá. Até mesmo os Estados Unidos, durante a excursão de três meses, terão a oportunidade de conhecer a epítome da cultura francesa...
O Subsecretário não sabia mais falar. Aproveitei a oportunidade para esgueirar-me na direção da frente da audiência. Sou um homem grande, mas posso me deslocar suavemente. Não demorou muito para me postar a dois ou três metros de Serge Maillot e não muito mais longe de Martine. O sorriso dela congelara e poderia rachar a qualquer momento. Eu esperava que isso não acontecesse antes que as fotografias fossem tiradas. Estava tudo ali... cinegrafistas, câmara de televisão, fotógrafos. E do lugar em que eu estava, podia ver dois rapazes cuidando do gravador.
O Subsecretário finalmente terminou. Agora, era a vez do diretor da Comédie, que falou pouco e muito bem, assegurando a Sua Majestade que os votos de felicidade de todo o teatro francês acompanhavam-no em sua excursão, que estava fadada a ser, como ele próprio, fabulosa.
— . Disse uma vez, meu caro Serge — arrematou ele — que todas as comédias tinham de terminar com o casamento, porque esse era o começo de todas as tragédias. Tenho certeza de que já rejeitou esse mot desde o seu casamento com Madame Martine, que é a jóia mais fulgurante de sua eminente companhia de artistas.
Houve aplausos novamente e o sorriso de Martine se renovou. Talvez ela tenha corado também. Eu não podia ter certeza do que era maquilagem e do que era rubor natural. Seja como for, Serge passou um braço possessivo pelos ombros dela. Martine inclinou a cabeça, para lançar-lhe um olhar de total adoração.
E agora era a vez do astro. Maillot tirou o braço dos ombros de Martine, passou a bengala para a mão esquerda, pegou o microfone com a direita. O monóculo faiscava à luz dos refletores.
— Excelências — disse ele, a voz famosa, com seus guinchos ocasionais e deliberados, impondo silêncio imediato — meus amigos, eu...
O rosto, o rosto grande, que aparecera em uma centena de disfarces, embora sempre reconhecível, em um milhar de telas, contraiu-se subitamente. Por um momento, era como se todos os músculos tivessem se tornado independentes, como se cada nervo estivesse repuxando, prestes a se descontrolar. E depois Maillot tombou para a frente, estrondosamente, arrastando o microfone. Do lugar em que eu estava, pude ver a panturrilha exposta da perna direita, pois a calça levantara com a queda. Os músculos ali tremiam violentamente, depois a perna se esticou e ele ficou completa e horrivelmente imóvel.
Foi uma cena terrível, por um ou dois minutos. Mulheres gritavam, duas chegaram a desmaiar. Mas tal não aconteceu com Martine. Ela continuou de pé, perto da parede, a um ou dois metros do corpo todo enroscado no chão, fitando-o fixamente, os olhos tão arregalados que parecia não haver mais nada no rosto. A câmara continuou em ação, os flashes espocavam. E foi então que houve um avanço em massa. Resolvi entrar em ação. Sabia que, se não o fizesse, teríamos um pânico de primeira classe nas mãos. As multidões, quer sejam de acadêmicos ou de operários, reagem sempre da mesma forma a um acidente ou morte súbita. Querem ver tanto quanto puderem, o mais perto que for possível.
Abri caminho a cotoveladas e fui postar-me diante da multidão. Levantei os braços e gritei no meu melhor francês para que todos mantivessem a calma, não se mexessem. Isso ajudou um pouco. Um momento depois, o Inspetor Jeannot, a quem eu conhecia, veio postar-se ao meu lado. Senti-me aliviado. Ele estava no comando da polícia do aeroporto e mandou chamar um médico.
Não demorou muito para que um homem idoso, com a fita vermelha da Legião de Honra na botoeira, surgisse no pequeno espaço vazio em torno do microfone caído. Ajoelhou-se, fez um rápido exame, depois olhou para Jeannot, informando:
— Ele está morto.
No silêncio súbito e ansioso que se seguiu à confirmação do que era bastante óbvio, um som inesperado surgiu... uma risada, sonora e histérica. Virei-me rapidamente. Era Martine, o corpo comprimido contra a parede, soltando as risadas frenéticas, como se fossem gritos de agonia. Enquanto eu me aproximava rapidamente, ela começou a deslizar para o chão. Segurei-a na metade do caminho. Ela não pareceu ficar surpresa por me ver. Ainda estava rindo, ao mesmo tempo em que se esforçava para dizer alguma coisa.
— Sabe... sabe o que ele disse?
— Martine!
— As outras... — Ela agarrou-se a mim, os dedos esguios cravando-se em meu braço — ... as outras... ele me disse... eram minhas esposas. Mas você... você será minha viúva...
Subitamente, Martine ficou inerte, em meus braços. Senti-me contente por ela ter desmaiado.
Enquanto isso, meia dúzia dos homens de Jeannot haviam aparecido. Estavam conduzindo a multidão para fora da sala. Ouvi o inspetor pedir desculpas e dizer que seria necessário deter a todos por um momento. Os guardas guiaram as pessoas importantes e os curiosos pelo salão principal, até o restaurante no outro lado, que por sorte ainda não começara a funcionar. Larguei Martine numa cadeira e peguei um punhado de gelo num balde que estava na mesa comprida. Já ia aplicá-lo na nuca de Martine quando Jeannot pegou-me a mão.
— Isso pode esperar — disse ele. — É melhor cuidarmos antes do corpo de Monsieur Maillot.
A sala já estava vazia, exceto por dois guardas, Jeannot, o médico, Martine desmaiada e eu. E o corpo rígido no chão. Alguém levantara o microfone. Os refletores ainda projetavam sua claridade ofuscante sobre a cena. Lá fora... e só registrei o fato no fundo da mente... um avião estava taxiando para a decolagem.
Os dois guardas levantaram o corpo e levaram-no para o sofá perto da escada. Ao depositarem-no ali, com um cuidado reverente, alguma coisa caiu no chão atapetado, sem fazer qualquer barulho. Jeannot e o médico estavam perto da janela, falando baixinho. Abaixei-me, assim que os guardas se afastaram, peguei o objeto. Era achatado, com o formato de uma cigarreira. Mas não era uma cigarreira. Havia um fio prateado preso num lado. Percebi quase que imediatamente que era a bateria de um aparelho auditivo.
A queda indubitavelmente rompera o fio. Fui até o sofá. À primeira vista, não pude avistar o resto do fio. E foi então que alguma coisa brilhou debilmente. Levantei a fita preta do monóculo. Ah, a vaidade dos atores!, pensei. O fio do aparelho auditivo passava por dentro da fita preta do monóculo, os poucos centímetros finais ainda presos nos abundantes cabelos brancos de Maillot, descendo para o ouvido. Ele devia precisar desesperadamente do aparelho para usá-lo mesmo camuflado. Enquanto seguia o fio, com um dedo hesitante, parei de repente, ao tocar o ouvido esquerdo de Maillot. Hesitei por um momento. Embora fosse uma coisa macabra, eu precisava me certificar. Por um momento, encostei as pontas dos dedos no rosto do morto, logo abaixo do malar. A carne estava fria e macia ao contato.
— E o que está fazendo aqui, Monsieur Venture? — disse a voz de Jeannot, tão abruptamente e tão perto de mim que quase me levantei de um pulo.
— Esperando por um avião. Acabei entrando na festa... por puro acaso.
Mas não se podia enganar Jeannot. Estivéramos do mesmo lado no caso da herdeira de Boston que desaparecera do George V sem deixar o menor vestígio. Aos olhos dele, eu era um cidadão relativamente íntegro. Mas isso não me conferia quaisquer privilégios.
— Sabe que eu não estava me referindo a isso — disse ele, com um tom de censura suave em sua voz. — Quero saber o que estava fazendo agora. Não deveria tocar em cadáveres, por mais famosos que sejam.
Mostrei-lhe a bateria. Ele pegou-o com seus dedos manchados de nicotina. O olhar dele acompanhou o fio, como eu fizera.
— Tiens, o médico não me disse... — Ele alteou a voz. — Dr. Varnel, por favor...
O médico idoso e distinto aproximou-se. O inspetor perguntou-lhe:
— Serge Maillot era surdo?
— Claro que não — respondeu o médico, irritado. — Tinha problemas de audição, mas apenas no ouvido esquerdo. E não vejo o que isso...
— Já determinou a causa da morte? — interrompi-o, bruscamente, pois precisava justificar minha presença.
— Já, sim. Não resta a menor dúvida de que foi uma parada cardíaca. Afinal, o maître já tinha 69 anos. Embora tivesse um excelente estado físico...
Desta vez, foi Jeannot quem o interrompeu, perguntando-me:
— O que está pensando, Monsieur Venture? Hesitei. O que era mesmo que eu estava pensando?
— Já chamei a ambulância — acrescentou o inspetor. —
O corpo será levado para o Hotel Maillot.
— Não haverá autópsia? — perguntei.
— Vê algum motivo para isso, Monsieur Venture? Respirei fundo. Estava me expondo muito, mas o vôo para
Montreal não fora chamado e talvez eu tivesse mesmo de ficar retido ali durante a noite inteira.
— Claro.
Jeannot fez então algo característico. Acenou com a cabeça para os dois guardas, que prestavam atenção a nossa conversa com expressões aturdidas.
— Levem Madame Maillot para uma das salas de espera VIPs — disse ele. — E peçam a uma das aeromoças para cuidar dela. Mais uma coisa: fiquem de boca fechada.
Por um momento, eu havia me esquecido de Martine. Olhei para o lugar em que ela estava. Martine acabara de abrir os olhos e estava olhando ao redor, atordoada. Resisti ao impulso de me aproximar dela. Tentar envolver uma mulher logo depois que se tornara viúva parecia ser uma atitude de terrível mau gosto.
— Vai manter toda aquela multidão aqui? — perguntei a Jeannot.
Um murmúrio de insatisfação partia do restaurante, ameaçando transformar-se em algo emocionalmente mais forte. Burt e uns poucos outros jornalistas já haviam efetuado algumas tentativas de invadir a sala em formato de L, sendo repelidos firme, mas apenas temporariamente, pelos guardas.
— Isso depende — disse Jeannot.
— Depende do quê?
— Do que tem a dizer, Monsieur Venture. E é melhor dizer depressa. Há meia dúzia de pessoas por lá que podem se tornar bastante desagradáveis se ficarem detidas sem uma boa razão.
— Não há razão para mantê-las aqui — declarei. — A não ser pelos técnicos que estavam cuidando dos equipamentos de rádio e televisão.
Jeannot lançou-me um olhar demorado, afastando-se em seguida. Fiquei sozinho com o médico e os restos mortais de Sua Majestade. Lembrei-me do comentário de Burt a respeito de Serge Maillot e um guarda-costas. Por que ele precisaria de um guarda-costas? E por que Burt haveria de presumir que eu fora contratado para o serviço? Eu queria as respostas para essas perguntas.
O médico limpou a garganta.
— A coisa parece impossível — disse ele, sacudindo a cabeça. — Sou médico de Maillot há 30 anos e posso lhe garantir...
Jeannot voltou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Estava muito sério e reconheci os sintomas. Alguém o censurara e ele não gostara.
— E agora, Monsieur Venture, gostaria que me fizesse o favor de dizer o que está pensando.
— Já viu um homem ser eletrocutado? Os olhos dele se estreitaram.
— Não. Por quê?
— Acontece que eu estava observando Maillot quando ele morreu...
— Isso é um absurdo! — interveio o médico.
— Também acho — concordei. — Tão absurdo quanto o fato do ouvido esquerdo de Serge Maillot estar quente quando o toquei acidentalmente.
O Dr. Varnel fitou-me aturdido por um instante, depois encaminhou-se apressadamente para o corpo no sofá. Empertigou-se um momento depois, parecendo perplexo.
— Há uma ligeira diferença de temperatura — anunciou ele. — Mas isso nada tem de extraordinário. Certamente não há calor...
— Nem poderia haver — ressaltei. — Mais de dez minutos já se passaram desde que o toquei.
— Quer dizer então que devemos aceitar sua palavra? — indagou Jeannot, maliciosamente.
— Claro que não. Uma autópsia mostrará as alterações fisiológicas tanto no ouvido como no cérebro...
— É isso mesmo, Dr. Varnel? — perguntou o inspetor.
O velho médico deu de ombros, impacientemente.
— É possível. Mas é claro que o efeito de um forte choque elétrico não é muito diferente de uma hemorragia cerebral...
— Mas disse que ele sofreu uma parada cardíaca — recordei-lhe.
— Os sintomas eram similares aos de uma parada cardíaca. Mas nunca se pode ter certeza...
— ... sem uma autópsia — arrematei. Jeannot olhou para mim e depois para o médico.
— Se há alguma dúvida razoável... — Ele parou de falar abruptamente, pensativo. — Mas como um choque assim poderia ter ocorrido? Fui informado de que o microfone e todos os demais aparelhos foram testados.
— Foram mesmo. — Um pressentimento tornou-se subitamente claro. — Mas, afinal de contas, Maillot tinha um aparelho elétrico... em sua pessoa.
Jeannot meteu a mão no bolso e tirou o bateria do aparelho auditivo. Revirou-o e encontrou a mola que abria a bateria. Enquanto o Dr. Varnel se afastava, dissociando-se dos trâmites, inclinei-me sobre a caixa retangular.
Lá dentro, havia um emaranhado de fios e cilindros. Estavam todos enegrecidos e o centro era uma massa de metal informe, derretido e fundido pelo que devia ter sido um calor intenso.
Jeannot e eu trocamos um olhar e depois nos encaminhamos para o sofá. O inspetor tirou o aparelho auditivo do morto. Tirou do bolso uma pequena lixa de unha e abriu-o. Lá dentro, havia uma massa de metal derretido. Ele não disse nada, pondo o aparelho auditivo junto com a bateria na mesa em que estava o gravador. Virou-se em seguida para o Dr. Varnel, dizendo calmamente:
— Devo pedir uma autópsia. Claro que terá de ser efetuada no necrotério da polícia. Tem o direito a estar presente...
O médico ainda estava com o seu orgulho profissional ferido.
— Mas por quê? Qual o motivo possível...
Jeannot explicou suavemente:
— Receio que haja uma forte possibilidade de homicídio.
O Dr. Varnel e o corpo haviam partido, Jeannot e eu estávamos a sós. Fui até a mesa comprida e servi-me de outro copo de champanhe. Estava morno e insípido, exatamente como o meu ânimo. Começara como um pressentimento, um relance de observação, seguindo-se a exultação por descobrir que estava certo. Mas a exultação já se desvanecera. E eu sabia que não deveria ter me metido. Havia também a encantadora viúva. Eu não queria vê-la... não agora. Não restava a menor dúvida de que ela tinha uma explicação perfeitamente boa para não haver esperado por mim. Mas eu não queria ouvi-la.
— O que você sabe a respeito de tudo isso, Venture? — perguntou Jeannot.
— Nada... exceto o que já lhe falei. E ainda não sei por que você considera que houve um homicídio. Pode ter sido um acidente.
— Um acidente muito estranho. Se a instalação era perigosa, por que não causou nenhum problema durante todos os testes? Ou durante o discurso do Subsecretário?
Dei de ombros.
— Não sou um perito em eletrônica...
— Mas, aparentemente, pode reconhecer quando um homem está sendo eletrocutado. — O sorriso de Jeannot era amistoso, mas isso não significava que seu ânimo fosse também amistoso.
— Muito bem... explique-me como e por quê.
Era uma tremenda injustiça e ele sabia disso. Reagi com veemência:
— Só uma pessoa pode lhe responder isso... justamente o assassino.
Ele tocou-me no ombro por um instante.
— Peço desculpas.
— Sabemos alguma coisa — falei, um tanto apaziguado.
— O aparelho auditivo e a bateria foram submetidos a uma corrente elétrica de alta voltagem. Deve ter sido transmitida de alguma forma através do microfone ou do suporte...
— Vamos dar uma olhada no microfone.
Examinamos o microfone e nada encontramos. Não havia nada de errado com ele... nenhum vestígio de calor, fios fundidos ou componentes de metal derretidos. Acompanhei o fio até o gravador. Também estava em perfeito estado. Quando voltei a fita em que foram gravados o discurso do Subsecretário e a oração do diretor da Comédie, constatei que funcionava perfeitamente.
— Então não foi o microfone — murmurou Jeannot, desapontado.
— Não sei dizer com certeza. Talvez devamos consultar os técnicos. Manteve-os aqui, não é mesmo?
— Mas eles são as últimas pessoas com quem quero falar.
— Por quê?
— Se você está certo, então todos são suspeitos.
— Mais razão ainda para interrogá-los.
— Não. — Jeannot sacudiu a cabeça. — Não quero fazer isso. Só depois que tiver uma explicação razoável sobre a maneira como Serge Maillot morreu. Afinal, se algum deles sabe, não vai fornecer voluntariamente a informação.
Jeannot pensou por um momento, mastigando o lábio inferior. E depois foi ao telefone, que estava num canto, numa mesinha pintada de branco.
— Camp está? — perguntou ele. — O Inspetor Jeannot quer falar com ele... Isso mesmo, urgente.
Ele ficou esperando por algum tempo.
— Camp? Pode dar um pulo até o salão de partida do segundo andar?... Não, imediatamente... Precisamos urgentemente de sua ajuda... Claro que é um assunto da polícia... Obrigado.
Jeannot desligou o telefone e virou-se para mim.
— Estava falando com André Camp, chefe do serviço de radiocomunicações de Orly. Ele é um mago da eletrônica, mas não gosta de ser incomodado.
— Ninguém gosta de homicídio — comentei, querendo puxar conversa. E pelo mesmo motivo acrescentei: — Não sabia que Serge Maillot tinha inimigos.
Jeannot levantou as mãos ao ouvir tal comentário.
— Qualquer homem vitorioso, qualquer celebridade, sempre tem inimigos. Devia saber disso. E Maillot possuía um talento especial para fazer inimigos. Centenas de atores que ele despediu, aspirantes a autores de roteiros cujos originais ele rejeitou, técnicos e auxiliares com quem ele foi grosseiro... e Maillot sabia ser terrivelmente grosseiro. Teve quatro esposas, e pense também em todas as mulheres que ele descartou e os maridos que enfureceu.
Não pude deixar de comentar:
— É um milagre que ele tenha conseguido viver tanto tempo.
— Ele prosperava à custa de seus inimigos. E havia também o seu comportamento na guerra... Maillot manteve o seu teatro aberto durante toda a ocupação nazista. E também fez três filmes. Disse que assim agiu para manter viva a cultura francesa. Outros deram um nome mais repulsivo à sua atitude. Pouco depois da Libertação ele foi seqüestrado uma noite por jovens combatentes da Resistência. Levaram-no para um cemitério em que uma centena de seus companheiros estavam enterrados... todos executados pelos alemães. Obrigaram-no a prestar-lhes uma homenagem de joelhos. Maillot ficou tão abalado que se afastou de todas as suas atividades por um ou dois anos. Inimigos? Eu não saberia por onde começar, se tivesse de reunir a todos!
Houve passos rápidos e nervosos na escada e um instante depois um homem alto e magro entrou na sala.
— Escute aqui, Jeannot! — ele foi logo dizendo. — Sou o responsável pela segurança do meu aeroporto! Não pode me arrancar com a maior indiferença...
— Se pudesse dizer-nos o que pensa disto... — falou Jeannot, inabalável, estendendo a bateria e o aparelho auditivo.
Camp examinou os objetos, o pomo-de-adão se movimentando vigorosamente.
— Qualquer idiota pode lhe dizer! O que está querendo...
Jeannot interrompeu-o bruscamente:
— Serge Maillot morreu nesta sala há menos de uma hora e achamos que foi homicídio. Por falar nisso, esse é Monsieur Venture, um amigo meu. Ele tem sido... bastante útil.
Não gostei da pequena pausa antes do arremate da frase, mas Camp nem percebeu.
— Não sou da polícia — disse ele, impacientemente.
— Mas é um gênio — declarou Jeannot, com a maior tranqüilidade. — Assim, se pudesse permitir que a sua grande mente se dignasse a concentrar-se em nosso pequeno problema...
Camp fungou irritado. Apontou para os pequenos cilindros que havia na bateria.
— Estas coisas aqui são transistores. E não tenho a menor idéia do que estão fazendo numa bateria de aparelho auditivo...
— E o que acha disso? — indagou Jeannot, entregando-lhe o aparelho auditivo propriamente dito.
Camp examinou-o rapidamente. Exibia uma expressão con-traf eita.
— A mesmo coisa. Mas foram bastante danificados. Provavelmente um curto-circuito.
— O que poderia causar um curto-circuito num aparelho auditivo? — perguntei.
Ele deu de ombros.
— Em teoria, nada. A voltagem é tão baixa... tem de serr por uma questão de segurança... que um curto é altamente improvável. Mas é claro que não sou perito nestes aparelhos. Mas, de alguma forma, evidentemente tanto a bateria como c aparelho propriamente dito foram submetidos a uma voltagem elevada.
— Já pensamos nisso — declarei. — Mas todo o equipamento foi testado... o microfone, o gravador, os refletores... e tudo parece estar em perfeito funcionamento.
Camp cocou a cabeça. Parecia um pouco menos furioso e muito mais interessado. Depois, sem dizer uma só palavra, ele pôs-se a trabalhar. Desmontou o microfone, examinou os cabos dos refletores portáteis, verificou até mesmo o interior da câmara. Seu rosto foi se tornando cada vez mais animado. Jeannot e eu ficamos observando-o, num silêncio respeitoso, até que ele voltou a se aproximar. Sua impaciência inicial se desvanecera.
— É muito interessante — disse ele. — Vocês têm razão. Nenhum dos equipamentos poderia ter causado a morte de alguém.
A expressão era radiante, como se ele estivesse profundamente satisfeito pelo resultado totalmente negativo.
— Isso é ótimo — disse Jeannot. — Talvez Maillot tenha sido morto por alguém do Espaço Exterior. Ou por um raio da morte. Ou... ou ele simplesmente morreu de indigestão.
— Não seja frívolo, Jeannot — disse Camp, apontando-lhe um dedo comprido e ossudo. — Deve ser sempre sério na presença do intelecto. Talvez um grande intelecto. Não concorda, Jeannot?
— Ainda não examinou o gravador — comentei. Camp lançou-me um olhar rápido e inquisitivo.
— Tem razão, não examinei. Talvez eu seja como o homem que procura em toda parte por uma chave importante, exceto no bolsinho da calça... porque tem medo do que pode encontrar. É que se a chave não estiver lá, ele estará perdido. — Ele riu, antes de acrescentar: — Mas também posso ter outros motivos.
Camp continuou a rir. Era um homem inteiramente diferente, porque estava interessado e estimulado. Era a própria imagem de um cientista diante de um enigma.
— Conhece alguma coisa sobre transistores, Monsieur Venture? — perguntou ele, enquanto se aproximava do gravador e o ligava.
— Não muito.
— São coisas diabolicamente eficientes. Podem ser usados tanto para enviar como para receber impulsos elétricos... ondas sonoras, ondas de luz, ondas elétricas. As possibilidades ainda não foram absolutamente esgotadas. Somente agora, por exemplo, estão começando a usar os transistores para registrar o ciclo de incubação de um ovo de pingüim... a fim de se descobrir como os humanos podem se adaptar a um frio intenso. E não podemos esquecer que os transistores constituem a parte mais importante dos mísseis espaciais e... Jeannot interrompeu-o:
— Vamos com calma, Camp. Serge Maillot não era um pingüim nem um astronauta. Não posso entender...
A voz sonora do Subsecretário saiu pelo alto-falante embutido do gravador. Camp abaixou o volume, até que se transformasse num débil murmúrio.
— Vai acabar entendendo, no momento oportuno — disse ele, com extrema dignidade, para acrescentar, irritantemente: — E é claro que eu posso estar totalmente enganado...
Ficamos esperando e observando.
Estávamos sentados num círculo: o operador da câmara, seu assistente, os quatro jovens eletricistas que cuidavam dos refletores, o camarada alto de terno escuro que era um diretor de TV, os técnicos de som encarregados da gravação, Martine e eu.
Era característico de Camp ter ido embora assim que provara que sua teoria estava certa. Não estava interessado pelo resultado, pela aplicação prática. Deixara isso para Jeannot e eu.
Martine estava abatida, mas já superara a sua histeria. Sentara ao meu lado, mas não dissera uma só palavra. Eu preferia assim.
Jeannot estava parado no meio do círculo, as mãos nos bolsos, balançando nos calcanhares.
— Lamento tê-los mantidos aqui — disse ele. — Mas há algumas perguntas que precisamos fazer para esclarecer a morte de Monsieur Maillot.
— O que há para esclarecer sobre um ataque de coração? — indagou o diretor de TV, cujo nome era Riret.
— Não foi um ataque cardíaco — disse Jeannot, suavemente. — Foi homicídio.
Os olhos de Martine se arregalaram e pensei que ela fosse gritar ou desmaiar novamente. Mas deviam tê-la enchido de sedativos. Martine simplesmente ficou um tanto rígida e inclinou-se para a frente, o rosto em forma de coração inteiramente branco sob a maquilagem. Os outros reagiram com incredulidade, interesse aturdido ou exclamações baixas de surpresa.
— Mas temos tudo registrado no filme! — disse o operador da câmara. — Se nos deixar revelar e projetar...
— O filme não mostraria o assassino, mas apenas a vítima — disse o inspetor.
Um dos técnicos de som soltou uma risadinha... uma reação puramente nervosa. O outro lançou-lhe um olhar de censura.
— Podemos saber como Monsieur Maillot foi morto? — indagou o diretor. — Isso é, se vamos aceitar essa remota possibilidade.
— Creio que podemos mostrar — disse Jeannot.
Ele tirou o aparelho auditivo e a bateria do bolso, estendendo-os para a frente.
Era a minha deixa. Levantei-me e fui até o gravador. Senti que os olhos de todos me acompanhavam a cada passo do caminho. Olhei para Jeannot. Ele acenou com a cabeça e liguei o gravador.
— ... Tenho certeza de que já revogou esse mot desde o seu casamento com Madame Martine — estava dizendo o diretor da Comédie, a voz desencarnada com a dicção extremamente precisa soando meio macabra no silêncio — que é a jóia mais fulgurante de sua eminente companhia de artistas...
Martine soltou um ofego abafado. A gravação continuou. Aplausos. Um burburinho de vozes desvanecendo-se.
— Excelências — começou Serge Maillot. — Meus amigos, eu...
E depois... o silêncio. O silêncio por vários pés de filme, seguido subitamente por uma verdadeira catarata de sons, berros gritos, terminando com a declaração quase inaudível do Dr. Varnel:
— Ele está morto.
Houve silêncio novamente quando desliguei o gravador e fui postar-me ao lado de Jeannot.
— Mas o que é isso? — perguntou o operador de câmara. — Disse que ia nos mostrar como Serge Maillot foi morto. E tudo o que ouvimos foi...
— Podemos tocar novamente — disse o inspetor. — Mas talvez aceitem a minha palavra. Por que não ouvimos o baque do corpo de Maillot batendo no chão? Por que o súbito hiato na gravação?
— Não pergunte a nós — disse um dos jovens técnicos. — Não saberíamos responder.
— Não estamos lhe perguntando. Mas podemos passar a gravação novamente. Só que desta vez faremos uma demonstração mais completa.
Jeannot olhou ao redor, como se procurasse alguém, fazendo uma opção. Ele foi parar diante de um dos jovens técnicos de som, um rapaz corpulento, de cabelos pretos. O outro era louro, com um rosto nervoso e sensível.
— Se não se importa... — disse Jeannot, estendendo a bateria e o aparelho auditivo para o rapaz moreno. — Basta meter no ouvido... Isso mesmo... Posso lhe garantir que é absolutamente seguro.
O rapaz hesitou por um instante, depois acabou obedecendo. Eu estava novamente no gravador, esperando pelo sinal de Jeannot. Demorou bastante a chegar. Observei a cena. Martine olhava fixamente para o inspetor. Os outros davam a impressão de que esperavam a execução de algum espetacular truque de salão. Eu não podia ver o rapaz louro porque Jeannot estava na frente dele.
O inspetor finalmente acenou com a cabeça. Mais uma vez, a voz do diretor da Comédie saiu do gravador. Mais uma vez houve aplausos, o burburinho de vozes e depois o discurso de Maillot. Mas desta vez ele não passou da primeira palavra. Uma cadeira caiu estrondosamente. Pulei para a frente. O rapaz louro acabara de arrancar o aparelho auditivo do ouvido do colega. A outra mão empunhava um revólver. O rosto fino e sensível estava contorcido numa careta terrível... muito parecida com a última expressão de Serge Maillot, antes de desabar no chão.
— Então vocês descobriram — disse ele, a voz rouca. — Como são espertos! Fui eu mesmo! O canalha... ele merecia morrer uma centena de vezes! Expulsou meu pai de sua companhia... e os boches mandaram-no para um campo de concentração... onde ele morreu!
— Abaixe essa arma — disse Jeannot, calmamente.
— Ela me ajudou! — gritou o rapaz, apontando agora a arma para o peito de Martine. — Foi ela quem mudou a bateria! Eu queria matá-lo, mas ela me ajudou! Também queria que ele morresse!
Martine estava sacudindo a cabeça em negativa... o rosto muito pálido.
Jeannot mexeu-se depressa, muito depressa. Mas não depressa o bastante. A arma explodiu e depois o rapaz virou-se e correu, os passos ressoando pela escada abaixo. Eu estava apenas alguns metros atrás dele, mas no fundo da escada esbarrei numa mulher gorda que estava se afastando do balcão de perfume. Avistei a cabeça loura. O rapaz continuava a correr, passando por um grupo de passageiros num dos portões de partida. Abriu a porta de vidro e saiu em disparada pela pista. Quando cheguei lá fora, já tinha dois guardas ao meu lado. Tive uma impressão confusa de um ônibus derrapando, pessoas gritando, pneus rangendo, em algum ponto distante. Abafando tudo isso, o troar de motores sendo ligados. Esquivei-me do ônibus, avistando o jovem técnico de som a correr pela pista. Ele tinha uma dianteira de cem metros. Corri o mais que podia, sem conseguir diminuir muito a diferença. Os dois guardas também não conseguiram. Havia luzes ofuscantes na beira da pista, onde ainda estavam trabalhando no Super-Constellation. E depois, quando estava a 50 metros do rapaz louro, fui ofuscado pelas luzes e tive de diminuir a velocidade. Por isso mesmo, não o vi correndo em meio ao clarão. Ouvi apenas o grito, estridente e profundo, quando ele se encontrou com a hélice em movimento. Ele deve ter morrido instantaneamente, sugado pela corrente de ar das lâminas a girarem velozmente.
— Sabemos de tudo a respeito dele — Burt estava dizendo, quando sentávamos... parecia um ano depois, embora fosse apenas cerca de uma hora... a tomar champanhe no salão. — O nome dele era Demaine. Ele disse a verdade a respeito do pai, embora Maillot não pudesse saber o que lhe acontecera quando o despediu, em 1942. O velho Demaine era um bêbado. Mas é claro que o filho tinha de se esquecer disso, a fim de poder continuar a viver com sua obsessão de vingar-se...
— Pobre coitado — murmurei.
Eu me sentia vazio e exausto. Via o rosto adorável de Martine dissolvendo-se em medo e pânico ao ser levada para a polícia. Parecia não ter importância se a acusação era verdadeira ou não. Provavelmente era verdadeira. Descobrir isso era função de Jeannot. Eu tinha a impressão de que ela casara com o velho pelo dinheiro dele e queria afastá-lo de seu caminho o mais depressa possível.
— Mas como ele conseguiu? — perguntou Burt. — Jeannot não quis dizer. E se você não quiser traduzir numa linguagem simples para um pobre e estúpido leigo como eu...
— Não sou um perito no assunto — murmurei, cansado. — Foi Camp quem adivinhou a coisa. O que Demaine fez foi bastante simples. Ele substituiu a bateria por três transistores... ou mandou Martine fazê-lo, se ela estava mesmo envolvida. Os transistores agiram como receptor. No gravador, ele instalara outro grupo de transistores... como transmissor. Os transistores na bateria do aparelho auditivo e no gravador estavam evidentemente sintonizados...
— Pelo amor de Deus, eu pedi para falar numa linguagem simples! — protestou Burt. — O que eu quero saber é apenas o seguinte: como foi que ele matou Maillot?
— Pelo som, som de alta freqüência. Você sabe que o ouvido humano pode captar apenas determinadas freqüências. Abaixo, não se ouve nada. Pode-se ir acima... com a engenhoca mecânica que Demaine usou... e se a freqüência for alta o bastante, pode até matar. Era por isso que havia um trecho de silêncio na gravação. O som de alta freqüência fora transformado em calor ao passar pela bateria do aparelho auditivo. Não foi a eletricidade, mas o calor que derreteu parte da bateria e do aparelho auditivo propriamente dito. E se eu não tivesse tocado por acaso no ouvido de Maillot...
Burt abriu a boca para formular, no mínimo, mais 50 perguntas. Mas o alto-falante por cima de nós entrou em funcionamento e uma voz de homem disse:
— Passageiros para Montreal, Vôo 167, devem se encaminhar para o avião. Passageiros para Montreal...
Peguei minha valise e desci, passando pela porta de vidro e saindo para a escuridão lá fora.
Nelson Latch era um homem difícil de reconhecer no meio de uma multidão. Era de estatura e peso medianos, não era feio nem bonito, cabelos e olhos sem qualquer lustro, roupas discretas. Contudo, sua atitude e aparência indefinidas tornavam-no o homem ideal para a sua ocupação. Ele era um detetive da Bramson's, uma loja de artigos femininos de Nova York.
Há 11 anos que Nelson realizava o seu trabalho, discretamente, eficientemente, nos sete andares da Bramson's. Centenas de pessoas que tinham o hábito de furtar artigos em lojas haviam sofrido as penalidades por seu crime por causa dos olhos tristes e vigilantes de Nelson. Vândalos, cleptomaníacos e até mesmo assaltantes a mão armada haviam aprendido a respeitar o homem inocente, de terno cinza, que vagueava pelos corredores da Bramson's e velava pelo direito da loja de receber o pagamento legítimo por suas mercadorias.
A Bramson's era uma loja de bom tamanho, atendendo a muitas classes de mulheres, oferecendo desde os vestidos de liquidação pendurados em cabides no subsolo até originais de Paris no Salão Dourado, no sexto andar. Contava com diversos detetives internos, entre os quais Nelson Latch era o mais antigo e experiente. Sempre que surgia algum problema delicado e perturbador, naturalmente o nome de Nelson Latch era o primeiro a ser mencionado na suíte executiva no sétimo andar.
Ele recebeu a convocação para comparecer ao gabinete de Mr. Bramson numa manhã de pouco movimento, no início de janeiro. Mr. Bramson, o filho do fundador, era um homenzinho nervoso e agitado, que estava instalado na cadeira do presidente há apenas três anos e ainda não se sentia inteiramente à vontade. Ele se contorceu na cadeira por um minuto inteiro, antes de abordar o motivo da entrevista.
— Este negócio leva qualquer um à loucura — disse ele finalmente. — Se não é uma coisa, é sempre outra. Pode-se esperar ladrões no subsolo, mas quem poderia imaginar que agiriam também no Salão Dourado?
Nelson limpou a garganta, com uma expressão de surpresa.
— Ladrões, Mr. Bramson? Eu não soube disso.
— Há duas semanas que vem acontecendo. Mas não permiti que vocês fossem convocados. Nossos maiores fregueses freqüentam o Salão Dourado. Temos de tomar muito cuidado.
— Furtos, Mr. Bramson?
— E grandes furtos. Não em volume, em quantidade. Mas vestidos de centenas de dólares, cintos da melhor qualidade, costumes. Nem mesmo sabemos o que foi levado até chegar o momento de fazermos o inventário do estoque.
Nelson deixou escapar um assovio.
— Não seria uma das vendedoras?
— Não. É mesmo uma freguesa. Mas é possível que alguma vendedora esteja ajudando. O que podemos fazer?
— Tem alguma idéia de como é a operação?
— Claro. Você conhece a disposição do Salão Dourado. Há quatro vestiários pequenos nos fundos do salão de desfile principal. As mulheres entram lá, tiram suas roupas, experimentam os vestidos. É onde a ladra entra em ação. Põe um vestido da Bramson por baixo de seu próprio vestido e sai como se nada tivesse acontecido.
Nelson franziu o rosto.
— Deve haver alguma coisa que possamos fazer.
— Outras lojas enfrentam o mesmo problema. Algumas determinam que as vendedoras acompanhem as freguesas enquanto experimentam os vestidos. Não podemos fazer isso, pois teríamos de dobrar o número de vendedoras. Há também lojas que emitem um tíquete para cada vestido, a fim de poderem manter o controle. Mas como poderíamos fazer algo tão vulgar no Salão Dourado? Nossas freguesas se sentiriam insultadas!
Ele parou de se remexer por um momento e inclinou-se para a frente, com as mãos cruzadas. E acrescentou, suavemente:
— Mas acho que encontrei a solução para o problema. Sabe o que é um vidro duplo?
— Sei, sim. É o vidro espelhado num dos lados e transparente do outro.
— Exatamente. — Bramson soltou uma risadinha. — E sabe aqueles espelhos que ficam nos vestiários? Pois mandei trocar todos, Nelson!
O detetive piscou os olhos, aturdido.
— Uma idéia muito boa, Mr. Bramson.
— Obrigado. Agora, vamos poder pegar a nossa ladra em ação. Vamos vê-la aplicar o seu golpe. Isso acabará com os furtos.
— Acho que sim.
— Só há mais uma coisa que precisamos, Nelson. Alguém de confiança. Alguém que possa vigiar a nossa amiga quando ela estiver em ação.
O rosto normalmente pálido de Nelson ficou vermelho.
— Está se referindo a mim, Mr. Bramson? Não acha que deveria ser uma mulher...
— Em termos ideais, deveria mesmo. Mas, como eu disse, é possível que a ladra tenha uma cúmplice bem aqui na loja, uma de nossas próprias funcionárias. Em quem eu poderia confiar? E não quero pedir ajuda externa... o caso é confidencial demais. E veja a coisa por outro ângulo, Nelson. Um detetive é como um médico. Não há nada de pessoal. É apenas um trabalho. Estou certo ou errado?
— Para dizer a verdade, não sei...
— É claro que você sabe. É um homem experiente, Nelson. Pode reconhecer a nossa ladra assim! — E ele estalou os dedos. — É verdade que terá de ver algumas mulheres tirando as roupas. E daí? Na praia, em qualquer praia, pode-se ver muito mais. E você é um homem casado, não é mesmo?
— Não, senhor.
— Não faz diferença. A única coisa que importa é que você pode realizar o trabalho, Nelson. Se concorda, pode começar amanhã.
Mr. Bramson levantou rapidamente e estendeu a mão. Nelson Latch não tinha opção que não apertá-la debilmente, numa concordância relutante.
Na manhã seguinte, pela primeira vez em muitos anos, Nelson dormiu além da campainha insistente do despertador. Lera o suficiente sobre psicologia para reconhecer que a negligência era uma decorrência de sua relutância em enfrentar aquela manhã em particular. A nova missão era-lhe completamente repulsiva. Não era absolutamente um trabalho de detetive, mas uma forma de bisbilhotar, que Nelson associava a espiões de quartos e outras categorias inferiores da profissão. Pior ainda, a perspectiva de ser o espectador de uma sucessão de atos de striptease era aterradora. Nelson tinha 44 anos e era um solteirão sem aventuras.
Às oito e meia, ele apresentou-se a Miss Dewey, a gerente de nariz comprido do Salão Dourado.
— Acompanhe-me — disse ela, desdenhosamente.
Miss Dewey conduziu-o aos vestiários. Eram quatro cabines, em fila, de bom tamanho, confortáveis, com cortinas de veludo vermelho na entrada. Cada uma era grande o bastante para caber uma cadeira de braços, um suporte de metal com cabides de madeira, uma prateleira estreita e um espelho de moldura antiga. Tudo parecia perfeitamente inocente. Mas quando Miss Dewey levou Nelson por uma porta lateral, para os fundos das cabines, ele viu os quatro vidros, permitindo uma plena visão do interior das cabines.
— Não me importo de dizer-lhe que sou contra isso — declarou Miss Dewey, altivamente. — Nossa clientela é muito respeitável.
— Pelo menos uma delas não é — disse Nelson, gentilmente.
— Isso pode ser verdade. Mas se transpirar a notícia dessa.. • dessa bisbilhotice...
— Não vai transpirar nada... não se todos formos discretos.
Depois que Miss Dewey o deixou sozinho, Nelson sentou-se na cadeira que lhe fora providenciada, torcendo para que o movimento nos vestiários da Bramson fosse mínimo naquela manhã.
Às nove e meia, ele ouviu o som de vozes femininas. Levantou, soltando um gemido baixo, foi postar-se num ponto de onde podia avistar as quatro cabines. Uma corpulenta matrona, levando no braço um vestido juvenil, entrou na Cabine Um. Nelson ficou observando-a puxar o vestido justo por cima da cabeça. Engoliu em seco quando foi revelada a complicada fundação de roupas de baixo que segurava o corpo, como uma couraça cor-de-rosa. E sentiu-se aliviado quando a mulher vestiu o traje da Bramson's e saiu da cabine, sob a aprovação aduladora da vendedora, que disse:
— Mas ficou ótimo, Sra. Busch!
Houve mais seis mulheres na cabine naquela manhã, todas se enquadrando mais ou menos no protótipo da matrona corpulenta. De tarde, apareceu uma mulher magra, de feições atiladas, a própria imagem de uma professora primária amargurada. Nelson ficou surpreso quando descobriu que as roupas de baixo dela eram uma imitação de pele de leopardo.
Ao final do dia, Nelson estava calejado pela visão de tantas mulheres se despindo. Na manhã seguinte, ele chegou à loja no horário.
A primeira visitante dos vestiários da Bramson's foi uma mulher atraente, em torno dos 40 anos. Nelson observou-a despir-se com um pouco mais de isenção do que tivera no dia anterior. Ficou desiludido quando ela começou a se cocar. A mulher coçou-se furiosamente e coçou-se por toda parte. Depois, vestiu uma roupa da Bramson's e deixou a cabine.
Na sexta-feira, o trabalho já parecia rotina. Foi quando ela apareceu.
Era uma loura. Os cabelos constituíam uma moldura dourada espetacular para o rosto de lábios cheios e olhos grandes. Era esbelta, numa roupa generosamente folgada. Quando os dedos alvos começaram a tirar as roupas, delicadamente, Nelson compreendeu que estava contemplando, em carne e osso, o tipo de garota que as revistas picantes costumam exibir em suas capas. Ele afastou-se do vidro, ao perceber que sua respiração deixara-o embaçado. Ficou observando os movimentos precisos da loura com algo mais que mero interesse profissional.
Não havia roupas de baixo encobrindo tudo sob o costume dela, apenas um sutiã branco fosco e uma calcinha incrivelmente reduzida. Ela posou como uma garota de calendário, suspendendo um dos dois vestidos que trouxera para a cabine e examinando-o. Pôs o vestido e ajeitou-o em torno dos quadris impecáveis, até se certificar de que estava perfeito. Depois, ela saiu da cabine, muito empertigada.
Nelson ficou esperando ansiosamente por seu retorno. E quando finalmente aconteceu, ele comprimiu o rosto contra o vidro. Foi recompensado com a visão próxima do rosto adorável, um rosto vagamente egípcio, olhos muito escuros, a boca ardentemente vermelha. Ela olhava para o espelho e sorria para a própria imagem. Para Nelson, parecia que a moça estava lhe sorrindo diretamente.
Depois, ela tirou o vestido por cima da cabeça e pegou o outro que trouxera para a cabine. Vestiu-o, contemplou-se no espelho novamente, pareceu ficar satisfeita.
Mas em vez de deixar a cabine, ela pegou a saia de tweed com que entrara inicialmente e vestiu-a por cima do vestido. Fez a mesma coisa com o casaco. Nelson sabia agora por que o traje lhe parecera antes um tanto largo. Agora, estava perfeitamente justo.
Ela era a sua ladra.
Ele gemeu como se estivesse sentindo uma dor intensa. Que garota sensacional! E ele tinha de pôr um fim à liberdade dela. Mas como poderia fazê-lo?
Nelson descobriu que não podia. Ficou parado atordoado por trás da cabine que fora o cenário do crime, deixando que a loura criminosa fosse embora tranqüilamente com a mercadoria roubada da Bramson's. Ouviu-a falar com a vendedora, manifestando indecisão em relação à compra e prometendo que voltaria na semana seguinte. E depois ela partiu.
Nelson sentou-se, trêmulo, levou as mãos ao rosto. Onze anos de serviço honesto pareciam ter se desvanecido sob a influência daquele único ato desonesto. Sentia-se como se ele próprio fosse um criminoso. Contudo, o sentimento não era forte o bastante para reprimir a outra emoção que se avolumava intensamente dentro de seu corpo inconspícuo.
Nelson Latch estava apaixonado.
A loura não tornou a aparecer por dois dias e Nelson ficou sem saber se se sentia contente ou triste. Queria tornar a vê-la; quanto a isso, não tinha a menor dúvida. Mas se fosse forçado a testemunhar outro crime... será que sua consciência conseguiria resistir?
Na quarta-fera, a loura entrou na Cabine Dois.
Usava desta vez um vestido cinza também largo. Ao perceber o tamanho exagerado da roupa, Nelson ficou consternado. Ela despiu-se rapidamente e experimentou um vestido azul da linha Princesa, de preço relativamente modesto. Quando ela saiu, Nelson ouviu-a efetuar a compra.
A princípio, o detetive pensou que ela tivesse ficado honesta. Um momento depois, no entanto, compreendeu que a loura estava apenas sendo esperta, efetuando compras ocasionais para evitar suspeitas. Quando a vendedora afastou-se para buscar o talão de vendas, a loura tornou a entrar na cabine, com um original de Paris no braço. Com o aprumo de uma profissional, ela meteu-o pela cabeça e cobriu-o em seguida com seu vestido cinza folgado.
Pouco antes de partir, a loura contemplou-se no espelho.
Nelson encostou o rosto no vidro.
— Não faça isso — sussurrou ele. — Por favor, não faça isso.
Ela empinou a cabeça, quase como se pudesse ouvi-lo.
— Você é bonita demais para ser uma ladra. Vão apanhá-la um dia desses. Por favor, desista. Por favor!
A loura abrira a boca e estava inspecionando os dentes superiores, à procura de vestígios de batom. E depois ela piscou.
Nelson ficou aturdido, até compreender que a loura piscara apenas para si mesma, uma piscadela de parabéns por seu sucesso criminoso.
No momento seguinte, ela saiu.
Nelson Latch nunca fora antes um macambúzio, mas transformou-se com suas dificuldades atuais. Seus poucos amigos perceberam rapidamente a mudança e ele teve de contentar-se mais e mais com a solidão. Descobriu-se a fazer passeios compridos pelo parque, passando a ler a literatura romântica que nunca antes tocara, notando o tamanho da lua sobre os prédios da cidade, prestando atenção às letras de amor das canções populares, como se tivessem adquirido um novo significado. Cada dia de trabalho encontrava-o atormentado por emoções conflitantes: um desejo intenso de ver a loura ladra outra vez, uma esperança intensa de que ela nunca mais aparecesse na Bramson's para a sua atividade escusa.
Mas pelo menos duas vezes por semana, normalmente às quartas e sextas-feiras, a criminosa de olhos escuros aparecia. Em alguns dias, ela era honesta. Mas Nelson não mais se deixava enganar pelo que era obviamente uma tática criminosa. Em outros dias, ela roubava os trajes mais caros do Salão Dourado, sob os olhos do detetive de mais confiança da Bramson's.
Nelson sempre lhe falava agora, inaudível sob a proteção do vidro grosso.
— Você é tão bonita! — sussurrava ele. — Parece um anjo. Por que tem de roubar? Por quê?
Um dia, ele confidenciou-lhe seu segredo:
— Eu a amo. Cuidarei de você. Não precisará mais roubar, minha querida...
E de repente, numa tarde de quinta-feira, ao final de fevereiro, mais de cinco semanas depois de Nelson começar sua vigília, o pior aconteceu.
Ele foi chamado ao gabinete de Mr. Bramson.
— Já sei o que vai dizer — murmurou Nelson, confuso. — Mas ainda não consegui descobrir a nossa ladra, Mr. Bramson.
O homenzinho enxugou a testa.
— Está demorando muito e não me importo de dizer-lhe que estou ficando preocupado, Nelson.
— É só me dar mais algum tempo, Mr. Bramson...
— Tempo? Não temos mais tempo nenhum! Já perdemos mais de mil dólares em mercadorias roubadas! E o que é ainda pior... estão começando a falar a respeito!
— Estão falando sobre o quê?
— Não sei como transpirou. Mas acho que simplesmente não se pode esconder essas coisas do pessoal de vendas. Estão espalhando rumores horríveis pela cidade, que temos um homem vigiando os vestiários. Esse tipo de coisa pode nos custar muito mais do que alguns vestidos roubados, Nelson. Compreende agora o problema?
Nelson estava incapaz de falar.
— Não é nada contra você, pessoalmente. Tenho certeza de que está fazendo o melhor possível, Nelson. Mas precisa compreender a situação. Se as mulheres descobrirem que você as está vigiando quando experimentam as roupas, não vão mais aparecer na Bramson's. Ladras, clientes, ninguém mais virá aqui!
— Mas, Mr. Bramson...
— Não há outro jeito, Nelson. Vou colocar Marjorie para vigiar os vestiários a partir de amanhã.
— Por favor, dê-me mais algum tempo. Só mais um dia! Suspeito de uma mulher, mas preciso de provas concretas. Amanhã é sexta-feira... e ela geralmente aparece na sexta-feira.
Mr. Bramson estava em dúvida.
— Não sei...
— Que mal pode haver? Estou vigiando os vestiários há quase dois meses. Que diferença pode fazer mais um dia?
— Está certo, Nelson. Mais um dia e depois está acabado. Vai se sentir aliviado, não é mesmo?
Mas Nelson Latch não parecia aliviado. Ao contrário, parecia desesperado.
Ele passou a manhã inteira do dia seguinte rezando para que a ladra loura aparecesse.
Havia uma carta em seu bolso, uma carta cuidadosamente preparada na noite anterior.
Que dizia:
Minha cara:
Sou um detetive interno da Bramson's e sei que vem retirando ilegalmente mercadorias do Salão Dourado. A loja planeja prendê-la em flagrante na próxima semana. Eu lhe suplico que não apareça. Eu a amo.
Com todo o respeito,
Um Amigo
Por volta das quatro horas da tarde, Nelson era incapaz de ficar sentado. Andava de um lado para outro, por trás das cabines, retorcendo as mãos e murmurando para si mesmo.
Às quatro e meia, ele avistou o brilho de luz na Cabine Três e foi até lá apressadamente.
Era a loura.
Ela estava com dois vestidos, ambos custando mais de 150 dólares. Examinou-os meticulosamente, parecendo decidir qual dos dois era o menos desejável. Foi o que pendurou no cabide. E meteu o outro pela cabeça.
Quando ela deixou a cabine, com o vestido roubado por baixo do seu, Nelson compreendeu que era chegado o momento de entrar em ação. Ele abandonou o seu posto, informou a Miss Dewey, a gerente do Salão Dourado, que voltaria em breve, depois deixou o departamento atrás da loura.
Ela já estava descendo a escada rolante quando Nelson a avistou. Ele manteve-se a uma distância respeitável, uma das mãos segurando o envelope branco parcialmente fora do bolso.
A multidão de fim de semana era imensa. Nelson teve dificuldade em manter a loura sob as suas vistas, enquanto ela desaparecia pelas portas giratórias que desembocavam na rua. Por um momento terrível, na calçada, ele pensou tê-la perdido de vista inteiramente. E depois avistou a cabeça dourada abaixando-se para entrar num táxi.
Nelson bateu com a mão na coxa em frustração e fez sinal freneticamente para outro táxi que passava. O táxi parou e ele embarcou prontamente, dando a ordem tradicional:
— Siga aquele carro!
Ele ficou inclinado para a frente no banco, durante toda a viagem, observando a cabeça loura pela janela traseira do táxi que estavam seguindo. Foi uma viagem comprida, quase até o Bronx.
Finalmente ele avistou o táxi da loura parar diante de um prédio antigo, numa rua sossegada. Esperou até que ela entrasse no prédio, antes de desembarcar e pagar ao motorista.
Subiu os degraus de pedra e olhou para os nomes nas placas, ao lado da porta. Havia quatro nomes. Qual seria o da loura?
Entrou no prédio cautelosamente, não querendo ser visto. Tudo o que Nelson Latch queria era avisar a loura. Não esperava qualquer gratidão.
Havia uma porta no primeiro andar. Ele encostou o ouvido e escutou os sons estridentes de um comercial de televisão. Uma voz de criança queixou-se que o jantar estava demorando e uma voz de homem disse-lhe rispidamente que se calasse.
Nelson subiu para o segundo andar.
A porta estava entreaberta e uma réstia de luz projetava-se pela escada. Nelson encostou as pontas dos dedos na madeira e empurrou gentilmente. A porta cedeu e ele descobriu-se a olhar para uma sala de estar aconchegante. Parada no meio, puxando o vestido por cima da cabeça, estava a loura, deixando à mostra a roupa roubada que tinha por baixo.
Nelson tirou a carta do bolso e abaixou-se para empurrá-la por baixo da porta. Produziu um débil ruído sibilante ao deslizar pelo tapete e a loura virou bruscamente a cabeça na direção da porta. Antes que ele conseguisse desviar-se, a loura viu-o. E começou a gritar quase que imediatamente.
— Por favor! — disse Nelson. — Não fique com medo! Sou seu amigo!
As palavras não a convenceram e ela continuou a gritar.
— Tenho uma coisa para você... uma carta...
Ele avançou na direção da loura, hesitante, estendendo o envelope branco que pegara de novo, como se pudesse protegê-lo contra a histeria dela. A loura recuou, como se o papel estivesse contaminado. Nelson largou o envelope numa mesa.
— Leia, por favor! Vai explicar tudo. Estou apenas tentando ajudar...
Quanto mais ele falava, mais a loura gritava. Nelson ouviu o barulho de vozes lá embaixo. A loura olhou ansiosamente para a porta. Nelson gesticulou para ela, consternado. E depois entrou em pânico. Virou-se e saiu pela porta, desceu a escada rapidamente. Foi acabar nos braços de um guarda, chamado ao prédio pelos vizinhos da moça alarmada. Ele não resistiu.
Não era a primeira vez que Nelson Latch entrava numa delegacia, mas nunca antes fora na condição de acusado. O sargento perguntou:
— Qual é a acusação, Murphy? Ao que o guarda respondeu:
— Voyeurismo.
Nelson Latch chegou a abrir a boca para protestar. Mas depois chegou à conclusão de que até mesmo um amor não correspondido era melhor do que absolutamente nada. E manteve-se calado, a cabeça erguida, com o orgulho de um mártir.
MORTE EM ATRASO - Eleanor Daly Boylan
— Uma biblioteca daria um bom cenário para um homicídio — comentou Allan Gifford, jovialmente, enquanto a Sra. De Ware anotava os livros devolvidos e recebia uma multa de quatro cents pelo atraso. — Cadáver encontrado na seção D-a-F, mão do morto segurando página arrancada de livro, bibliotecária identifica assassino localizando o livro com a página rasgada...
— Fico contente por ser a detetive. Por um momento, fiquei com medo de ser a assassina.
— Tem sorte de eu não a ter escolhido para vítima.
A Sra. De Ware riu, uma risada surpreendentemente exuberante para emanar de um corpo que não devia pesar mais de 40 quilos, pensou Gifford, com divertimento e afeição. Ela tinha 65 anos e era bonita como um amor-perfeito, os cabelos brancos como a neve e olhos castanhos sempre brilhando. A Sra. De Ware era a bibliotecária na cidade de Stockton desde a morte do marido, dez anos antes.
— Vou providenciar para que tenha um jantar de aniversário durante a minha estada aqui, neste verão — dissera-lhe Gifford, ao chegar à cidade, algumas semanas antes.
Jornalista e ocasionalmente autor de ficção policial, ele alugava um chalé em Stockton todo mês de julho, há sete anos.
— Eu diria que o seu trabalho de verão já está elaborado. Como vai chamar... O Corpo Entre as Estantes?
A Sra. De Ware removia as marcas a lápis de um exemplar de O Mágico de Oz enquanto falava.
— É mais provável que eu escolha O Canto de Cisne de Gifford. Já estou cansado do gênero de pista.
Ele encostou-se no balcão, relutante em sair novamente para o calor. Além da Sra. De Ware, era a única pessoa na biblioteca e os dois eram grandes amigos. A pequena e jovial bibliotecária sempre se mostrara extremamente atenciosa e prestativa, reservando-lhe livros, verificando fatos, até mesmo mandando buscar em Boston, cem quilômetros ao sul, as referências e informações que seu estoque limitado não podiam oferecer.
— Canto do cisne? Está sentindo pena de si mesmo. A típica depressão de escritor. Provavelmente Martha está ausente.
— Está mesmo. Levou as crianças para visitar a mãe dela. Se eu escrever mais alguma ficção, será uma coisa objetiva e direta. Já chega de mistérios. É o trabalho mais sufocante do mundo.
A Sra. Ware fez menção de que ia dizer alguma coisa, mas deteve-se antes de fazê-lo, sorrindo para duas garotas que entraram na biblioteca, bronzeadas, com as pernas de fora. Acenaram para a pequena bibliotecária e encaminharam-se para a estante de revistas. Depois que elas se afastaram, a Sra. De Ware disse, em voz baixa:
— Por falar em mistérios, uma coisa bem interessante aconteceu pouco antes de sua chegada este ano. Pelo menos eu achei interessante, quase uma espécie de história de detetive. Eu estava promovendo a nossa "Semana Sem Multa", que realizamos todos os anos. É um esquema simples. Deixamos uma cesta na frente e publicamos um aviso no jornal, convidando as pessoas a devolverem os livros há muito atrasados sem precisar pagar qualquer multa. É uma maneira de recuperar livros que, se não for assim, nunca mais veremos. Pois uma manhã, quando esvaziei a cesta, encontrei um livro datado de 18 de outubro de 1944. Não acha um tanto estranho e arrepiante?
— Por que arrepiante? Ela pareceu desapontada.
— Oh, Deus, esqueci que você não é um nativo. A data não poderia lhe significar coisa alguma. Foi nesse dia que ocorreu o assassinato Paxton. Uma moça chamada Dorothy Paxton foi...
— Espere um instante... esse nome me lembra alguma coisa... — Gifford mudou a posição do corpo comprido no balcão. — Deixe-me ver se recordo... Ela morreu afogada... não, foi estrangulada, encontrada à beira de um lago ou algo parecido. E havia um sujeito com quem ela ia casar. Se não me engano, chegaram até a trazê-lo do exterior para ser interrogado. Mas por que me lembro dela? Ela era alguém importante em Stockton... filha de alguém, irmão ou...
— Filha. Era a filha do prefeito.
— Isso mesmo. A filha do Prefeito Paxton. E ele provocou um tumulto infernal. Mas ninguém foi condenado, não é mesmo?
A Sra. De Ware sacudiu a cabeça, radiante.
— Não acha que a devolução do livro agora é bastante interessante e dramática? Especialmente se levarmos em consideração que esse "lago ou algo parecido" é Willow Pool, que fica na estrada para se chegar aqui.
— É mesmo? — Gifford soltou uma risada. — É uma pena que a pessoa que levou o livro emprestado não o tenha trazido de volta na data marcada, ao invés de 15 anos depois. Poderia então ter visto o assassino.
— Mas isso é justamente o melhor de tudo. Miss Gill, a bibliotecária naquele tempo, usava um sistema diferente de marcação. Ao invés de anotar o dia em que o livro deveria ser devolvido, ela anotava o dia em que era retirado. Assim, a pessoa pode ter visto o assassino, no final das contas.
A Sra. De Ware piscou-lhe triunfalmente, enquanto o telefone tocava. Ela atendeu, fez uma anotação, desapareceu entre as estantes e voltou um instante depois para dizer que sim, Como Cultivar Violetas Africanas estava na biblioteca e ela o deixaria reservado.
Gifford ficou olhando para o espaço, dizendo a si mesmo que não deveria bancar o tolo. Aquele tipo de sorte não lhe acontecia... nem a qualquer outra pessoa. Uma chance em um milhão. Ou em um bilhão.
— Qual era o nome do livro? Posso vê-lo?
A bibliotecária abaixou-se e abriu uma gaveta por baixo do balcão. Tirou um livro com a capa já desbotada.
— Defesa Civil: a Importância em Sua Comunidade. Publicado em 1942. Completamente superado, é claro. Nem mesmo me dei ao trabalho de catalogá-lo novamente.
— Imagino que não há registro de quem levou o livro. Ela sacudiu a cabeça.
— Não chegamos a esse ponto.
Gifford pegou o livro e abriu-o. Olhou para a tinta vermelha desbotada em que a data estava assinalada, pensando que daria uma excelente capa... uma mão descarnada segurando o selo de controle, a tinta vermelha escorrendo pela página e transformando-se em sangue, o título numa ficha de biblioteca, Morte em Atraso. Um momento depois, a mente de jornalista afastou com impaciência a de escritor de ficção. E ele disse:
— Não houve um suspeito principal, alguém que foi quase condenado?
— Houve, sim. Um homem chamado Ralph Addison. Ele morreu no ano passado.
— Ele tinha parentes? Há alguém com quem eu possa falar? A Sra. De Ware pareceu ficar alarmada, depois assumiu uma expressão severa.
— Ora, Mr. Gifford, não lhe contei tudo isso para que pudesse sair pela cidade bisbilhotando, fazendo perguntas. Estava deprimido e só lhe falei sobre o livro num esforço para tentar animá-lo. Ficarei muito zangada se me deixar embaraçada com...
— Posso então ficar com o livro por alguns dias?
— Não pode, não!
Ela arrancou-lhe o livro e tornou a guardá-lo na gaveta.
— Então pelo menos me fale mais alguma coisa sobre o assassinato Paxton.
— Não, senhor.
— Essa é muito boa. Deixa-me no maior interesse e curiosidade e depois se recusa a falar qualquer outra coisa. Não vou prejudicar a sua preciosa reputação. Nem mesmo mencionarei seu nome. Por favor, deixe-me levar o livro para...
A Sra. De Ware sacudiu a cabeça branca vigorosamente e concentrou-se em seu fichário. Gifford sorriu e encaminhou-se para a porta.
— Se eu descobrir alguma coisa interessante, vou convidá-la para jantar e lhe contarei.
A Sra. De Ware não se dignou responder. Tinha se encaminhado para o lugar em que as garotas liam revistas e ficou parada ali, conversando com elas, de costas para Gifford.
A biblioteca, que ocupava o mesmo prédio que a agência dos correios, ficava numa rua transversal ao principal logradouro de Stockton. Mais além, havia campos, um pequeno lago chamado Willow Pool e o começo das terras cultivadas.
Gifford parou por um momento nos degraus da biblioteca, deliciosamente imaginando alguém parado ali 15 anos antes, segurando um livro sobre defesa civil e observando um transeunte, a cor de um vestido, o movimento de um carro. Havia um fragmento de recordação nebuloso ou ignorado na mente de alguém em Stockton que podia muito bem significar...
— Está ficando maluco com o calor — disse Gifford a si mesmo, em tom de censura.
Mas, no final das contas, as férias eram suas, a família estava longe e se ele queria desperdiçar alguns dias pelo menos sairia mais barato do que o golfe.
Passando alternadamente pelo sol muito quente e trechos de sombra agradável, Gifford seguiu até a esquina da Main Street. Acenou para o Capitão Nichols, através da vitrine da barbearia. O idoso chefe dos bombeiros de Stockton estava se levantando da cadeira naquele momento e Gifford esperou até que ele saísse para a rua.
— Olá, Nick. Gostaria que me dissesse alguma coisa. Estou escrevendo uma história cuja ação transcorre durante a Segunda Guerra Mundial. Preciso de algumas informações sobre o sistema de defesa civil numa cidade pequena. Conhece alguém que possa me ajudar?
O rosto curtido e vigoroso do chefe dos bombeiros iluminou-se com um sorriso.
— Bernie Waterfield é o seu homem. Ele estava no comando da defesa civil em Stockton. O Pequeno César... era assim que costumávamos chamá-lo.
— Ele levava a coisa muito a sério?
— E como! Estava sempre percorrendo a cidade de capacete, braçadeira e todo o resto do equipamento. Fazia preleções sobre como detonar uma bomba e coisa assim. Lembro que durante o julgamento Paxton, Bernie ficou clamando que não deveria haver tantas "autoridades importantes sob o mesmo teto". Era de deixar qualquer um maluco. Mas imagino que alguém precisava fazer o serviço dele.
Gifford aproveitou a oportunidade:
— Esse julgamento Paxton deve ter sido uma coisa sensacional.
— E foi mesmo. Entramos no mapa naquele ano. Muitos dos nomes principais não existem mais. O Prefeito Paxton está morto, assim como Ralph Addison...
— Que tipo de homem ele era?
— Ralph? No fundo, não era um mau sujeito. Mas era meio tolo. Estava com 35 anos e continuava a ser um solteirão que vivia atrás das garotas. Estava caçando Dotty Paxton, aproveitando a ausência do namorado dela, servindo no Exército. Ralph foi a última pessoa vista com Dotty na manhã do crime. Encontraram o corpo dela naquela tarde. Mas havia muitos homens atrás de Dotty. Ela era a coisinha mais linda da cidade. Estou indo comer agora. Está servido?
— Obrigado, Nick, mas acho que vou conversar um pouco com Waterfield. Ele é o dono da drugstore, não é mesmo?
Nichols assentiu, e Gifford percorreu o meio quarteirão até a drugstore, pensando como deveria abordar Waterfield. Desejava perguntar-lhe à queima-roupa se tirara o livro da biblioteca naquele dia fatídico. Mas isso quase que certamente envolveria a discussão sobre a sua devolução atrasada e deixaria Waterfield constrangido, além de envolver a Sra. De Ware. E ele prometera que seria discreto.
Depois disso, o melhor era mesmo a tática de "estou escrevendo uma história" que empregara com Nichols. Essas palavras poderiam abranger tudo, pensou Gifford, sorrindo para si mesmo, enquanto entrava na sombra amena da drugstore. Poderia aproximar-se ao máximo possível do assunto e torcer para que Waterfield fosse um homem que gostasse de falar.
O balcão de soda estava apinhado, mas não havia ninguém no balcão de aviamento de receitas. Gifford foi cumprimentado pelo próprio Bernie Waterfield, um homem grande e corpulento, na casa dos 60 anos.
— Meu nome é Allan Gifford. Poderia me aviar uma receita para uma história de homicídio?
Ele riu ao ver o rosto atônito de Waterfield, que então começou a sorrir, desconfiado. E Waterfield disse:
— Já me disseram que você é o sujeito que costuma aviar essas receitas. Não posso dizer que já li alguma de suas histórias. Não aprecio essas histórias de detetive.
— Vou lhe explicar qual é o meu problema, se tiver um minuto de folga. — Gifford apoiou as mãos na beira do balcão. — Estou trabalhando num relato fictício do assassinato Paxton. Ou seja, estou aproveitando os fatos básicos do crime, mas revestindo-os com personagens e fatos imaginários. Uma das minhas idéias é criar uma testemunha principal, que seria o homem que dirigia a defesa civil na cidade, como sei que fazia. No dia do crime, esse homem vai à agência dos correios para afixar alguns cartazes sobre exercícios de defesa antiaérea. Escolhe a agência dos correios porque fica ao lado da biblioteca, não muito longe da Willow Pool, onde...
O telefone em sua sala de trabalho tocou e Waterfield, cujo rosto se tornara cada vez mais desaprovador, pediu licença. Os minutos foram passando e ele não voltou. Depois, um garoto apareceu e informou que Mr. Waterfield estava muito ocupado e não poderia mais falar com Mr. Gifford naquele dia.
Desapontado, Gifford pediu um refresco de morango e ficou pensando no que acontecera. Teria sido leviano demais? Os habitantes de cidades pequenas têm a propensão de sentir o maior orgulho das coisas locais e o caso Paxton fora muito importante, não era assunto para gracejos. Se Waterfield era mesmo o tipo compenetrado e sisudo que lhe fora descrito, Gifford quase que podia ouvi-lo espalhando pela cidade que o "tal escritor" ia inventar uma história sobre o caso Paxton, acrescentando uma porção de enfeites e bobagens. Ou talvez Waterfield não gostasse de seu papel como testemunha principal, mesmo em termos imaginários. Ou será que pensara que Gifford estava fazendo pouco caso dos gloriosos aparatos da defesa civil?
Gifford voltou para casa, determinado agora a ser franco e objetivo. Não precisava envolver a Sra. De Ware. Afinal, os fatos do caso Paxton eram públicos. Em seu chalé, ele fez uma lista de todos os seus conhecidos em Stockton, comerciantes e autoridades com idade suficiente para se recordarem do crime. Depois, telefonou para a drugstore. Waterfield atendeu. Gifford identificou-se.
— Receio ter lhe dado uma impressão errada quando conversamos, Mr. Waterfield. A verdade é que estou seriamente interessado no caso Paxton. Tenciono inclusive tentar reabrir o caso. Surgiram alguns indícios novos bastante interessantes (que o céu o perdoasse, mas ele precisava despertar o interesse das pessoas, se queria arrancar-lhes algumas informações) e fiz uma relação das pessoas que tenciono entrevistar. Gostaria de saber se poderia me conceder 20 minutos de seu tempo amanhã àz manhã. Prometo que não passarei disso.
Houve uma pausa e depois Waterfield disse, em tom soturno:
— Amanhã de manhã, a qualquer hora.
E ele desligou em seguida. Gifford deu mais meia dúzia de telefonemas e marcou outros quatro encontros para o dia seguinte. Mas tais encontros jamais seriam realizados.
Na manhã seguinte, o Stockton Eagle publicou em manchete a notícia do suicídio de Bernard Waterfield. Ele se matara com um tiro, deixando uma confissão escrita do assassinato de Dorothy Paxton. Enquanto lia, atordoado, Gifford teve sua atenção atraída para uma frase na notícia. E sentiu uma profunda compaixão pela pequena Sra. De Ware.
Naquela noite, ainda radiante com os louvores de seu editor, Gifford sentou-se com a Sra. De Ware numa mesa de canto na Lord Jeffrey Inn, em Amherst. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar e Gifford de vez em quando afagava-lhe a mão, dizendo-lhe que comesse tudo, como uma boa menina.
— Afinal, é uma comemoração para nós dois — comentou ele, sorrindo. — Mas eu gostaria que tivesse me contado que Ralph Addison era seu irmão.
— Pobre querido... Finalmente teve o seu nome inocentado. Não pode imaginar o que isso representa.
— Confesse que me provocou deliberadamente com aquele livro, sabendo que eu reagiria como um sabujo.
Ela assentiu, soltou uma risadinha, tomou um gole de café. Depois, seus olhos assumiram uma expressão sombria.
— Há 15 anos que eu tinha certeza absoluta de que Ralph era inocente. E ele sabia que eu acreditava nele. Mas isso não ajudava muito. Ainda que não conseguissem condená-lo, a verdade é que a nuvem sobre a sua cabeça jamais se dissipou. Pode imaginar como foi a vida dele, até o dia em que morreu.
— Posso, sim. Deve ter sido terrível. Alguma vez desconfiou de Waterfield?
— Desde o início.
— Por quê?
Ela baixou os olhos para o prato.
— Bernie me namorou quando éramos jovens. Eu sabia que tipo de homem ele era...
Depois de um momento, Gifford disse:
— E quando o livro foi devolvido, com aquela data, então teve certeza. Mas por que diabo não me deixou levar o livro? Estava me compelindo a fazer todo o trabalho de pressão. Por que então privar-me de uma prova tão importante?
Um garçom entregou-lhes os cardápios com as listas de sobremesas e depois afastou-se. A Sra. De Ware examinou o cardápio atentamente.
— Torta de maçã, sundae de chocolate, melão... Porque não havia qualquer prova. Nenhum livro foi devolvido com a data do assassinato.
— Mas me disse...
A Sra. De Ware sorriu da perplexidade de Gifford.
— Aquele livro sobre defesa civil estava num caixote que recebemos de um espólio na última primavera. Ao ver o título, lembrei-me de Bernie. Ele incomodara todo mundo durante o programa. Comecei a pensar sobre a melhor maneira de usar o livro para denunciá-lo, se ele fosse culpado. Tive a idéia de forjar a data. Devia ter-me visto tentando fazer com que parecesse velha e desbotada. O passo seguinte era escolher o momento certo para lançá-lo na pista. Oh, Deus, aqui está a minha sobremesa predileta: torta de limão com suspiro!
O ASSASSINO DO MELHOR AMIGO - Donald E. Westlake
O detetive Abraham Levine, da 43.a Delegacia, em Brooklyn, mastigou a extremidade do lápis, olhando irritado para o relatório que acabara de escrever. Não estava gostando, não estava absolutamente gostando. Simplesmente não parecia certo. E quanto mais pensava a respeito, mais forte se tornava a impressão.
Levine era um homem baixo e atarracado, as roupas largas, compradas sem muito cuidado. O rosto era sensível, encimado por cabelos grisalhos, bem aparados, ao estilo militar. Aos 53 anos de idade, ele tinha 24 anos de serviço na polícia e já estava na metade da faixa do enfarte, algo que o vinha incomodando há algum tempo. Cada vez que se lembrava da morte, ele pensava angustiado no coração cansado que lhe batia dentro do peito.
E em seu trabalho, a lembrança da morte era freqüente. Morte natural, morte acidental e morte violenta.
Aquela era uma morte violenta e Levine podia sentir que alguma coisa estava errada. Ele e seu parceiro, Jack Crawley, haviam recebido o chamado logo depois do almoço. Era de um dos guardas em Prospect Park, um guarda chamado Tanner. Um homem que se dizia chamar Larry Perkins procurara Tanner no parque e anunciara que acabara de envenenar o seu melhor amigo. Tanner acompanhara-o, encontrando um cadáver no apartamento a que Perkins o conduzira. Ligara então para a delegacia. Levine e Crawley estavam voltando do almoço e foram encarregados de atender ao chamado. Deram a volta e tornaram a sair.
Crawley guiou o carro, um Chevvy 56 sem qualquer identificação, enquanto Levine ficava sentado ao seu lado, a pensar na morte, preocupado. Pelo menos aquela seria uma das limpas. Nada de facas, bombas ou garrafas de cerveja quebradas. Apenas veneno, mais nada. A vítima daria a impressão de estar dormindo, a menos que fosse um daqueles venenos que causam espasmos musculares antes da morte. Mas mesmo assim ainda seria melhor do que uma "faca, uma bomba ou uma garrafa de cerveja quebrada. E a vítima não pareceria tão completamente morta.
Crawley dirigia calmamente, sem usar a sirene. Era um homem grandalhão, na casa dos 40 anos, com algum excesso de peso, rosto quadrado e papada, parecendo mais ameaçador do que era na realidade. O Chevvy subiu pela Oitava Avenida, o sol do final de primavera rebrilhando no capô. Seguiam para um endereço na Garfield Place, o quarteirão entre a Oitava Avenida e Prospect Park West. Tiveram de circular pelo quarteirão, porque a Garfield tinha mão única. Aquele trecho em particular apresenta prédios antigos nos dois lados. Os interiores dos prédios foram reformados e subdivididos em milhares de apartamentos, quartos e cubículos, em que os passageiros do metrô dormiam à noite. O metrô para Manhattan fica a seis quarteirões de distância, na Grand Army Plaza, em frente à biblioteca.
À uma hora da tarde daquela quarta-feira, ao final de maio, as calçadas estavam desertas, os prédios davam a impressão de estarem abandonados. Somente os carros estacionados no lado esquerdo da rua indicavam uma ocupação atual.
O número que procuravam ficava no meio do quarteirão, do lado direito. Não era permitido estacionar daquele lado e por isso havia espaço bem em frente ao prédio que procuravam para Crawley parar o Chevvy. Ele abaixou o visor de sol, deixando o cartão da polícia visível através do pára-brisa. Seguiu Levine pela calçada, descendo os dois degraus para a porta do porão. A porta estava aberta, presa por uma lata de lixo amassada. Levine e Crawley entraram. Estava um tanto escuro lá dentro, depois da claridade intensa do sol na rua. Os olhos de Levine demoraram alguns segundos para se acostumar à mudança. Depois, ele divisou dois vultos de homens parados no outro lado do vestíbulo, diante de uma porta fechada. Um era o guarda Tanner, jovem, com mais de 1,80m de altura, um rosto quadrado e impessoal. O outro era Larry Perkins.
Levine e Crawley aproximaram-se dos dois homens que estavam à espera. Nos sete anos em que trabalhavam em dupla, tinham definido uma divisão de trabalho que satisfazia a ambos. Crawley fazia as perguntas e Levine escutava as respostas. Agora, Crawley apresentou-se a Tanner, que lhe disse:
— Esse é Larry Perkins, da Rua 4, 294.
— O corpo está aí dentro? — perguntou Crawley, apontando para a porta fechada.
— Está, sim, senhor — respondeu Tanner.
— Vamos entrar — disse Crawley. — Fique de olho no pombo. Cuide para que não voe.
— Tenho de levar um material para a biblioteca — disse Perkins, subitamente, a voz jovem e suave.
Todos fitaram-no aturdidos por um momento e depois Crawley resmungou:
— Pode esperar.
Levine observou Perkins atentamente, tentando conhecê-lo. Era uma técnica pessoal, quase que totalmente inconsciente. Primeiro, ele tentou enquadrar Perkins em algum tipo ou categoria, alguma espécie de estereótipo geral. Depois, procuraria pelos detalhes pequenos e individuais que diferenciaram Perkins do tipo geral, acabando com uma imagem mental surpreendentemente completa, que seria também surpreendentemente acurada.
O estereótipo geral era fácil. Perkins, de suéter preta de lã e calça caqui, mocassins marrons, sem meias, era um "artista". Como era mesmo que eles estavam sendo chamados naquele ano? Ah, sim... beats. Era isso mesmo. Em termos de estereótipo geral, Larry Perkins era um beatnik. As diferenças individuais surgiriam em breve, através da fala, maneirismos e atitudes de Perkins.
Crawley tornou a dizer:
— Vamos entrar.
Os quatro entraram no quarto em que estava o cadáver. O apartamento era constituído por um aposento grande, uma kitchenette e um banheiro ainda menor. Um sofá-cama estava aberto, coberto por um lençol listrado. O resto dos móveis consistia em uma cômoda toda escalavrada, duas poltronas e abajures, um toca-discos numa mesa, ao lado de uma imensa pilha de long-plays. À exceção da vitrola, tudo parecia surrado, de segunda mão, desbotado, inclusive o tapete marrom no chão e o papel de parede florido, bastante sujo. Duas janelas davam para um pátio de cimento estreito, que terminava nos fundos de outro prédio. Era um dia ensolarado lá fora, mas nenhum raio de sol conseguia descer até aquele aposento.
No meio do aposento havia uma mesa de jogo, com uma máquina de escrever e duas pilhas de papel ao lado. Diante da mesa, havia uma cadeira dobradiça. Era nessa cadeira que estava sentado o morto. Ele tombara para a frente, os braços estendidos e amassando as pilhas de papel, a cabeça repousando sobre a máquina de escrever. O rosto estava virado para a porta, os olhos fechados, os músculos faciais relaxados. Fora pelo menos uma morte serena e Levine sentiu-se grato por isso.
Crawley olhou para o corpo, soltou um grunhido e virou-se para Perkins.
— Muito bem, pode nos contar a história.
— Pus o veneno na cerveja. — Perkins não falava absolutamente como um beatnik. — Ele pediu-me que lhe abrisse uma lata de cerveja. Despejei num copo e acrescentei o veneno. Depois que ele morreu, saí e fui falar com o guarda.
— E isso é tudo?
— É, sim.
— Por que o matou? — perguntou Levine.
Perkins virou-se para Levine, observando-o atentamente.
— Porque ele era um idiota pomposo.
— Olhe para mim — disse-lhe Crawley.
Perkins obedeceu imediatamente. Mas antes que ele desviasse os olhos, Levine percebeu um relance de emoção neles. Mas não pôde determinar qual era a emoção. Levine correu os olhos pelo aposento, contemplando os móveis surrados, a mesa de jogo e o cadáver. Tornou a observar o jovem Perkins, vestido como um beatnik, mas falando como o mais polido dos jovens polidos, exteriormente calmo, mas escondendo alguma emoção intensa no fundo de seus olhos. O que Levine teria visto naqueles olhos? Terror? Raiva? Ou súplica?
— Fale-nos a respeito desse camarada — disse Crawley, acenando com a cabeça para o corpo. — O nome dele, de onde o conhecia, a história toda.
— O nome dele é Al Gruber. Deixou o Exército há cerca de oito meses. Está vivendo de suas economias e da pensão especial para os ex-soldados. Isto é, estava.
— Ele era um estudante universitário?
— Mais ou menos. Estava fazendo alguns cursos noturnos em Columbia. Mas não era um estudante exclusivamente.
— O que mais ele era? — perguntou Crawley.
— Não era muita coisa. Um escritor. Um escritor inédito. Como eu.
Levine perguntou:
— Ele ganhava muito dinheiro com as coisas que escrevia?
— Absolutamente nenhum. — Desta vez Perkins não se virou para Levine, continuando a olhar para Crawley, enquanto respondia. — Uma revista trimestral aceitou certa vez algumas coisas que ele escreveu. Mas jamais publicaram. De qualquer forma, eles não costumam pagar as contribuições.
— Quer dizer que ele estava numa situação difícil? — perguntou Crawley.
— E muito difícil. Sei como é isso.
— Também está na mesma situação?
— A história da minha vida é absolutamente igual. — Perkins olhou para o corpo de Al Gruber, antes de acrescentar: — Ou quase. Também escrevo. E não recebo qualquer dinheiro pelo que escrevo. Estou vivendo da conta de ajuda aos ex-soldados e das minhas economias, além de alguns serviços de datilografia eventuais. E também faço cursos noturnos em Columbia.
O médico-legista e os técnicos do laboratório da polícia entraram no aposento. Levine e Crawley, com Perkins no meio, passaram algum tempo esperando e observando. Depois que o médico-legista concluiu o seu primeiro exame, os dois detetives deixaram Perkins aos cuidados de Tanner e foram falar com ele.
Como sempre, Crawley formulou as perguntas:
— Oi, Doe. O que lhe parece?
— Um caso bastante simples e claro. Ou pelo menos a julgar pelas aparências. O homem foi envenenado, sentiu os efeitos, foi até a máquina de escrever para informar quem era o culpado e morreu. Um copo usado e um pequeno vidro de remédio estavam em cima da cômoda. Vamos examiná-los, mas quase que certamente fizeram o serviço.
— Ele conseguiu datilografar alguma coisa antes de morrer?
— perguntou Crawley.
O médico-legista sacudiu a cabeça.
— Não. O papel estava meio torto na máquina, como se o tivesse posto às pressas. Mas ele não foi rápido o bastante.
— Estava perdendo tempo — comentou Crawley. — O camarada ali já confessou.
— O que está com o guarda?
— Isso mesmo.
— Não parece meio esquisito? — disse o médico-legista.
— Dar-se ao trabalho de envenenar alguém e depois sair correndo para confessar ao primeiro guarda que encontra...
Crawley deu de ombros.
— Nunca se pode saber como certos sujeitos vão reagir.
— Eu lhe mandarei o relatório assim que puder.
— Obrigado, Doe. Vamos embora, Abe. Está na hora de levar o nosso pombo para o seu ninho.
— Está bem — disse Levine, distraidamente.
Ele já estava sentindo que havia alguma coisa errada. Vinha se sentindo assim, vagamente, desde que vislumbrara aquela expressão estranha nos olhos de Perkins.
E a sensação de algo errado estava se tornando mais forte a cada momento que passava, sem que ele conseguisse definir qualquer coisa. Aproximaram-se de Tanner e Perkins. Crawley disse:
— Muito bem, Perkins, vamos dar uma volta.
— Vai me prender? — perguntou Perkins, parecendo estranhamente ansioso.
— Vamos apenas dar uma volta — insistiu Crawley, que não admitia responder a perguntas de acusados.
— Está certo. — Perkins virou-se para Tanner. — Incomoda-se de levar meus livros e discos à biblioteca? Tenho de devolvê-los hoje. São os que estão naquela cadeira. E há mais dois em cima da pilha de discos de Al.
— Não há problema.
Tanner olhava atentamente para Perkins, com uma expressão aturdida no rosto. Levine ficou imaginando se o guarda experimentava a mesma sensação de algo errado que o atormentava.
— Vamos logo — disse Crawley, impacientemente. Perkins encaminhou-se para a porta. Levine disse:
— Irei daqui a um instante.
Enquanto Crawley e Perkins deixavam o apartamento, Levine foi examinar os livros e discos que deveriam ser devolvidos à biblioteca. Dois dos livros eram de peças elisabetanas, um era o Anuário Literário de Novas Artes e os outros dois eram sobre criminologia. Os discos eram de música popular.
Levine franziu o rosto e aproximou-se de Tanner, perguntando:
— Sobre o que você e Perkins ficaram conversando antes de chegarmos aqui?
O rosto de Tanner ainda estava contraído numa expressão de perplexidade.
— Sobre a estupidez da mente criminosa. Há alguma coisa de muito esquisita neste caso, Tenente.
— É bem possível.
Levine saiu do apartamento, indo se encontrar com os outros dois. Os três sentaram-se no banco da frente do Chevvy, Crawley novamente ao volante, Perkins no meio. Seguiram em silêncio, Crawley absorvido em guiar, Perkins examinando os instrumentos e mostradores no painel, com seus botões e alavancas extras, o microfone por baixo do rádio, enquanto Levine tentava definir o que estava errado.
Chegando à delegacia, Perkins foi fichado e depois levado a uma das salas de interrogatório. Havia uma mesa escalavrada e quatro cadeiras. Crawley sentou-se atrás da mesa, Perkins no outro lado, de frente para ele. Levine foi ocupar uma cadeira no canto, à esquerda de Perkins, enquanto um estenógrafo da polícia, de bloco na mão, ocupava a quarta cadeira, atrás de Crawley.
As primeiras perguntas de Crawley foram uma repetição das que já tinham sido formuladas no apartamento de Gruber, desta vez para serem registradas oficialmente. Depois, Crawley disse:
— Muito bem, vamos em frente. Você e Gruber estavam fazendo a mesma coisa, vivendo praticamente da mesma maneira. Ambos eram autores inéditos, ambos estavam fazendo cursos noturnos em Columbia, ambos viviam com pouco dinheiro.
— Exatamente.
— Há quanto tempo se conheciam?
— Há cerca de seis meses. Nós nos conhecemos em Columbia e ambos voltávamos de metrô para casa, depois das aulas. Começamos a conversar, descobrimos que ambos acalentávamos o mesmo tipo de sonho e nos tornamos amigos. É aquele velho ditado, a miséria adora companhia.
— Faziam os mesmos cursos em Columbia?
— Apenas um, Redação Criativa, do Professor Stonegell.
— Onde comprou o veneno?
— Não comprei. Foi Al quem comprou. E comprou há algum tempo, apenas para ter à mão. Vivia dizendo que iria se matar se não conseguisse fazer uma boa venda em breve. Mas ele não falava sério. Era apenas uma espécie de brincadeira.
Crawley cocou o lóbulo da orelha direita. Levine sabia, da longa convivência com seu parceiro, que aquele gesto indicava que Crawley estava confuso.
— Foi até lá hoje para matá-lo?
— Exatamente.
Levine sacudiu a cabeça. Isso não estava certo. E ele disse, suavemente:
— Por que levou os livros da biblioteca?
— Eu estava a caminho da biblioteca — disse Perkins, virando-se e olhando para Levine.
— Olhe para mim! — ordenou Crawley bruscamente. Perkins tornou a fixar-se em Crawley, mas não antes que
Levine percebesse novamente a mesma expressão estranha em seus olhos. Mais forte, desta vez. E mais suplicante. Suplicante? O que Perkins estava suplicando?
— Eu estava a caminho da biblioteca — repetiu Perkins. — Al tinha dois discos que constavam da minha ficha e por isso fui buscá-los. No caminho, decidi matá-lo.
— Por quê? — perguntou Crawley.
— Porque ele era um idiota pomposo — disse Perkins, a mesma resposta que dera antes.
— Porque uma história dele foi aceita por uma revista literária e você não consegue isso? — sugeriu Crawley.
— É possível. Em parte, sim. Mas o problema era toda a atitude dele. Al era terrivelmente presunçoso. Sabia mais do que qualquer outra pessoa no mundo.
— Por que o matou hoje? Por que não na semana passada ou na próxima semana?
— Foi hoje que senti vontade.
— Por que se entregou?
— Teriam me apanhado de qualquer maneira.
Levine perguntou:
— Sabia disso antes de matá-lo?
— Não sei — respondeu Perkins, sem olhar para Levine.
— Só pensei nisso depois. Compreendi então que a polícia me apanharia de qualquer maneira. Falariam com o Professor Stonegell e com outras pessoas que nos conheciam. E eu não queria ficar esperando. Achei melhor procurar um guarda e confessar logo de uma vez.
— Disse ao guarda que havia matado o seu melhor amigo — comentou Levine.
— Isso mesmo.
— Por que usou essa expressão, melhor amigo, se o odiava tanto que queria matá-lo?
— Ele era o meu melhor amigo. Pelo menos em Nova York. Eu não conhecia realmente mais ninguém, à exceção do Professor Stonegell. Al era o meu melhor amigo porque era o meu único amigo.
— Está arrependido de tê-lo matado? — perguntou Levine. Desta vez, Perkins tornou a virar-se na cadeira, ignorando
Crawley.
— Não, senhor — respondeu ele, os olhos impassíveis. Houve silêncio na sala. Crawley e Levine se entreolharam.
Crawley fez uma pergunta com os olhos e Levine deu de ombros, sacudindo a cabeça. Alguma coisa estava errada, mas ele não sabia o que era. E Perkins estava sendo tão prestativo que acabaria não servindo de qualquer ajuda. Crawley virou-se para o estenógrafo e disse:
— Pode datilografar tudo. E mande alguém vir buscar o pombo para levá-lo ao ninho.
Depois que o estenógrafo se retirou, Levine perguntou:
— Quer dizer alguma coisa extra-oficialmente, Perkins? Perkins sorriu. Olhava para o chão, como se achasse graça em alguma coisa que havia ali.
— Extra-oficialmente? — murmurou ele. — Enquanto os dois estiverem aqui, será tudo oficial.
— Quer que um de nós se retire?
Perkins tornou a olhar para Levine, parando de sorrir. Pareceu pensar por um momento e depois sacudiu a cabeça.
— Não. De qualquer forma, obrigado. Mas acho que não tenho mais nada a dizer. Ou pelo menos não agora.
Levine franziu o rosto e recostou-se na cadeira, estudando Perkins. O rapaz não parecia estar sendo sincero. Estava exibindo contradições demais. Levine procurou uma imagem mental de Perkins, mas não conseguiu encontrar nada objetivo.
Depois que Perkins foi embora, escoltado por dois guardas uniformizados, Crawley levantou, espreguiçou-se, suspirou, coçou-se, puxou o lóbulo da orelha e disse:
— O que você está achando, Abe?
— A coisa não me agrada.
— Sei disso. Pude perceber pelo seu rosto. Mas ele confessou. O que mais pode haver?
— Você sabe muito bem que a falsa confissão não é algo sem precedentes.
— Não desta vez, Abe. Um camarada só confessa um crime que não cometeu por dois motivos. Ou ele é um maluco que quer a publicidade, ser punido ou algo parecido, ou então está querendo proteger alguém. Perkins não me parece um maluco. E não há mais ninguém envolvido para ele proteger.
— Num estado que adote a pena capital, um homem pode confessar um homicídio que não cometeu para que as autoridades efetuem o suicídio por ele — sugeriu Levine.
Crawley sacudiu a cabeça.
— Ainda não me parece condizente com Perkins.
— Nada parece condizente com Perkins. Ele nos apresenta um rosto vazio. Por duas vezes, no entanto, a guarda baixou e pude perceber que havia algo estranho por trás.
— Não comece a imaginar coisas, Abe. O garoto confessou. Ele é o assassino e vamos deixar a coisa por aí.
— Sei que o nosso trabalho está concluído. Mas a coisa ainda me perturba.
— Está certo. — Crawley tornou a sentar-se e pôs os pés em cima da mesa escalavrada. — Vamos tentar definir as coisas. O que o incomoda?
— Tudo. Para começar, o motivo. Não se mata um homem por ser um idiota pomposo. Não quando se diz um momento depois que ele era o seu melhor amigo.
— As pessoas fazem coisas esquisitas quando são bastante pressionadas. Até mesmo a amigos.
— Tem toda razão. Vamos ao segundo ponto. O método do crime. Não parece certo. Quando um homem mata impulsivamente, pega alguma coisa para golpear. Quando recupera o controle, procura a polícia e se entrega. Mas quando se envenena alguém, está-se usando um método furtivo e traiçoeiro. Não faz sentido procurar um guarda e confessar tudo logo depois de usar veneno. Não é o mesmo tipo de mentalidade.
— Ele usou o veneno porque estava à mão — disse Crawley. — Gruber comprou-o, provavelmente estava em cima da cômoda ou outro lugar assim. Num súbito impulso, Perkins pegou o veneno e despejou na cerveja.
— Isso é outro fato estranho. Costuma tomar cerveja de lata?
Crawley sorriu.
— Sabe que sim.
— Vi algumas latas vazias no apartamento. O que indica que Gruber gostava de tomar cerveja.
— E daí?
— Quando você toma cerveja de lata, despeja num copo ou bebe diretamente da lata?
— Eu bebo diretamente da lata. Mas nem todo mundo o faz.
— Sei disso. E o que me diz dos livros da biblioteca? Se você fosse matar alguém, levaria os livros que tem de devolver à biblioteca?
— Ele teve um impulso repentino de matar. Não sabia que ia fazê-lo até chegar lá.
Levine levantou.
— É justamente esse o problema. Pode-se explicar todos os detalhes deste caso. Mas se é um caso tão simples, por que deve haver tantas questões que precisam de explicação?
Crawley deu de ombros.
— Não tenho a menor idéia. Tudo o que sei é que temos uma confissão e isso é suficiente para satisfazer-me.
— Mas não a mim. Acho que vou sondar as coisas e ver se acontece algo. Quer ir comigo?
— Alguém precisa ficar aqui para entregar a caneta a Perkins quando chegar o momento de assinar a confissão — disse Crawley.
— Importa-se que eu dê uma saída?
— Não há problema. Divirta-se. — Crawley estava sorrindo. — É ótimo brincar de detetive.
Levine foi primeiro ao apartamento de Gruber. Estava agora vazio, depois de ter sido revistado meticulosamente, de acordo com a rotina normal da polícia. Levine desceu até a porta do porão, mas não entrou no apartamento no porão, onde havia um pedaço de papel, preso com fita adesiva transparente, em que estava escrito, com uma letra infantil: ZELADOR. Levine bateu e ficou esperando. Depois de um minuto, a porta se entreabriu, presa por uma corrente. Um rosto redondo fitou-o, de uma altura que não passava muito de um metro e meio. E o rosto perguntou:
— O que deseja?
— Polícia.
Levine tirou a carteira e abriu-a, estendendo para que o rosto redondo pudesse ver.
— Ah... Está certo.
A porta foi fechada e Levine esperou, enquanto a corrente era removida. A porta se abriu um instante depois.
O zelador era baixo e redondo, metido numa calça de veludo pique e com uma camiseta suja de gordura.
— Entre, entre — disse ele, recuando para que Levine pudesse entrar na sala atravancada e cheirando a mofo.
— Quero lhe falar a respeito de Al Gruber — disse Levine. O zelador fechou a porta e foi até o meio da sala, sacudindo a cabeça.
— Não foi terrível o que aconteceu? Al era um bom rapaz. Não tinha dinheiro, mas era um bom rapaz. Sente-se em algum lugar... em qualquer lugar.
Levine olhou ao redor. A sala estava repleta de móveis estofados, baixos, pesados, puídos, poltronas e sofás. Ele escolheu a poltrona menos avariada e sentou-se na beira. Embora fosse relativamente baixo, seus joelhos pareceram ficar quase na altura do queixo. Tinha a impressão de que cairia para trás se se descuidasse.
O zelador atravessou a sala e arriou em outra poltrona, como se tencionasse nunca mais se levantar, pelo resto da vida.
— Uma coisa terrível... — murmurou ele. — E pensar que talvez eu pudesse ter impedido...
— Poderia ter impedido? Como?
— Aconteceu por volta de meio-dia. Estava assistindo à televisão e ouvi uma voz no apartamento dos fundos, gritando: "Al! Al!" Fui até o corredor, mas os gritos já haviam cessado. Eu não sabia o que fazer. Esperei um minuto, depois voltei e continuei a assistir à televisão. Foi provavelmente nessa ocasião que a coisa aconteceu.
— Não houve qualquer barulho enquanto estava no corredor? Ouviu apenas os dois gritos antes e mais nada?
— Foi apenas isso. Pensei inicialmente que fosse mais uma das discussões deles e estava disposto a brigar com os dois. Mas os gritos pararam antes mesmo que eu abrisse a porta.
— Discussões?
— Entre Mr. Gruber e Mr. Perkins. Estavam sempre discutindo, gritando um com o outro. Os outros inquilinos viviam reclamando. Havia ocasiões em que discutiam tarde da noite, às duas ou três horas da madrugada. Os outros inquilinos começavam a me telefonar para reclamar.
— Sobre o que eles discutiam ? O zelador deu de ombros.
— Quem sabe? Falavam de nomes. Pessoas. Escritores. Os dois pensavam que eram grandes escritores ou algo assim.
— Alguma vez eles brigaram a socos ou algo assim? Ameaçaram matar um ao outro?
— Não. Eles apenas gritavam, chamavam-se de estúpidos e ignorantes, coisas assim. No fundo, acho que gostavam muito um do outro. Pelo menos estavam sempre juntos. Apenas adoravam discutir. Sabe como são esses garotos de universidade. Já tive outros estudantes morando aqui e são todos iguais. Adoram discutir. Mas é claro que nunca antes aconteceu algo assim por aqui.
— Como era Gruber exatamente?
O zelador pensou por um momento, antes de finalmente dizer:,
— Era um sujeito meio quieto. A não ser quando estava com Mr. Perkins. Nessas ocasiões, ele gritava tão alto quanto qualquer pessoa. Mas ele era quieto na maior parte do tempo. E muito bem-educado. Uma surpresa de verdade, em comparação com os outros garotos de hoje. Era sempre polido e jamais deixava de dar uma mão quando se precisava de ajuda. Foi o que aconteceu na ocasião em que eu estava levando uma cama para o terceiro andar. Mr. Gruber apareceu e me ajudou a carregar a cama. E teve mais trabalho do que eu.
— E ele era um escritor, não é mesmo? Ou pelo menos estava tentando se tornar um escritor.
— Isso mesmo. Eu podia ouvir o barulho da máquina de escrever a qualquer hora do dia ou da noite. E ele estava sempre com um bloco de anotações, no qual vivia escrevendo coisas. Perguntei uma vez o que escrevia ali e ele respondeu que descrições de lugares como o Prospect Park lá na esquina, de pessoas que conhecia. Sempre disse que queria ser escritor como um camarada chamado Wolfe, que também tinha vivido no Brooklyn.
— Entendo. Levine teve de fazer um esforço para deixar a poltrona. — Obrigado por ter-me dispensado seu tempo.
— Não foi nada. — O zelador acompanhou Levine até a porta. — Qualquer coisa que eu puder ajudar, basta me avisar.
— Obrigado novamente.
Levine saiu e ficou parado no corredor, pensando, enquanto ouvia o trinco ser passado no outro lado da porta. Virou-se finalmente e foi até o apartamento de Gruber, batendo na porta.
Como já esperava, um guarda uniformizado ficara ali, a fim de vigiar o apartamento por algum tempo. Quando o guarda abriu a porta, Levine mostrou-lhe sua identificação e disse:
— Estou trabalhando no caso. Gostaria de dar uma olhada no apartamento.
O guarda deixou-o entrar. Levine examinou cuidadosamente os pertences pessoais de Gruber. Encontrou finalmente os blocos de anotações, na última gaveta da cômoda. Eram cinco, do tamanho de blocos de estenografia, folhas soltas. Quatro estavam cheios, escritos a caneta, letra cuidadosa, enquanto o quinto continuava meio vazio.
Levine levou os blocos para a mesa de jogo, empurrou a máquina de escrever para o lado, sentou-se e começou a folheá-los.
Descobriu o que estava procurando no meio do terceiro bloco que examinou. Uma descrição de Larry Perkins, escrita pelo homem que Perkins matara. A descrição... ou estudo de caráter... prolongava-se por quatro páginas. Começava com uma descrição física e depois passava para uma análise de personalidade. A atenção de Levine foi atraída por algumas frases dessa última parte: "Larry não quer escrever, quer ser um escritor, o que não é a mesma coisa. Ele quer o encantamento, a fama e o dinheiro, acha que vai conseguir se virar um escritor. É por isso que ele já se dedicou a representar, pintar e a todas as demais profissões supostamente encantadoras. Larry e eu estamos sendo frustrados pela mesma coisa: nenhum dos dois tem qualquer coisa que valha a pena ser dita. A diferença é que eu estou tentando descobrir alguma coisa para dizer, enquanto Larry quer conquistar o sucesso apenas através da verbosidade. Um dia desses ele vai descobrir que não chegará a parte alguma desse jeito. E será um dia terrível para ele".
Levine fechou o bloco e pegou o quinto, o que estava pela metade. Folheou-o lentamente, descobrindo que havia uma palavra constante em quase todas as páginas: Niilismo. Gruber obviamente odiava a palavra e também obviamente tinha medo dela. "Niilismo é morte", ele escrevera numa página. "É a convicção de que não há convicções, de que nenhum esforço vale a pena. Como pode um escritor acreditar em tal coisa? Escrever é o mais positivo dos atos. Sendo usado, como pode ser usado para propósitos negativos? A única expressão do niilismo é a morte, não a palavra escrita. Se eu não posso dizer nada de esperançoso, então não devo dizer coisa alguma."
Levine tornou a guardar os blocos na gaveta da cômoda, agradeceu ao guarda e saiu, voltando ao Chevvy. Acalentara a esperança de poder preencher os espaços em branco na personalidade de Perkins através das anotações de Gruber. Mas aparentemente Gruber tivera tanta dificuldade em definir Perkins quanto Levine estava agora encontrando. Levine aprendera muita coisa a respeito do morto, que era sincero, veemente, exigente consigo mesmo, como somente os jovens podem ser. Mas Perkins continuava a ser pouco mais que uma parede vazia. "Verbosidade", escrevera Gruber. O que havia por trás da verbosidade? Um assassino, pela confissão do próprio Perkins. Mas o que mais?
Levine deu a partida no Chevvy, seguindo para Manhattan.
O Professor Harvey Stonegell estava dando aula quando Levine chegou a Columbia. Mas a moça na recepção informou-o que Stonegell estaria livre dentro de mais alguns minutos, sem ter mais nenhuma aula pelo resto da tarde. Ela explicou onde ficava o gabinete de Stonegell e Levine agradeceu.
A porta da sala de Stonegell estava trancada e Levine ficou esperando no corredor, observando os estudantes passarem apressadamente nas duas direções, parando para ler os avisos sobre bolsas de estudo, novos cursos e dotações, no quadro.
O professor apareceu 15 minutos depois, acompanhado por dois alunos. Era um homem alto e esguio, com o rosto fino e a cabeça grisalha. Poderia ter qualquer idade entre 50 e 70 anos. Usava um casaco de tweed, com pedaços de couro nos cotovelos, e uma calça cinza que não combinava.
— Professor Stonegell? — perguntou Levine.
— Pois não?
Levine apresentou-se e mostrou sua identidade.
— Gostaria de falar-lhe por alguns minutos.
— Está certo. Espere só um instante.
Stonegell entregou um livro a um dos dois estudantes, recomendando-lhe que lesse determinados trechos, explicando ao outro por que não lhe dera uma boa nota em seu último trabalho. Depois que os dois se afastaram, Levine entrou na sala pequena e atravancada de Stonegell, sentando-se na cadeira ao lado da mesa.
— Veio falar sobre um dos meus alunos? — perguntou Stonegell.
— Dois de seus alunos. Do curso noturno. Gruber e Perkins.
— Esses dois? Eles estão metidos em alguma encrenca?
— Infelizmente, estão. Perkins confessou ter assassinado Gruber.
O rosto fino de Stonegell empalideceu.
— Gruber está morto? Assassinado?
— Por Perkins. Ele se entregou logo depois do crime. Mas, para ser franco, a coisa toda me perturba. Não faz sentido. Como conhecia os dois, achei que poderia me dizer alguma coisa a respeito deles, projetar algum sentido no caso.
Stonegell acendeu um cigarro e ofereceu a Levine. Mas Levine recusou. Renunciara ao fumo logo depois que começara a se preocupar com o seu coração.
— É preciso algum tempo para a gente se acostumar ao fato — disse Stonegell, depois de um momento. — Gruber e Perkins... Ambos eram bons estudantes em meu curso, sendo que Gruber talvez um pouco melhor. E eram amigos.
— Já soube que eram amigos.
— Havia uma rivalidade amistosa entre os dois — explicou Stonegell. — Sempre que um deles começava um projeto, o outro iniciava um projeto similar, querendo bater o primeiro em seu próprio jogo. Na verdade, era mais Perkins do que Gruber. E sempre defendiam lados opostos de cada questão, gritando como inimigos irreconciliáveis. Mas, na verdade, eram amigos íntimos. Não posso compreender que um dos dois tenha assassinado o outro.
— Gruber era parecido com Perkins?
— Por acaso dei essa impressão? Não, eles eram bastante diferentes. A velha história dos opostos se atraírem. Gruber era de longe o mais sensível e sincero dos dois. Não estou querendo absolutamente insinuar que Perkins era insensível ou insincero. Perkins possuía a sua própria sinceridade e a sua própria sensibilidade, mas estavam quase que exclusivamente voltadas para dentro de si mesmo. Equacionava tudo em si mesmo, seus sentimentos e ambições. Mas Gruber tinha mais... é difícil explicar... mais visão-do-mundo, traduzindo mal do alemão. Sua sensibilidade estava voltada para fora, na direção dos sentimentos de outras pessoas. O que transparecia nas coisas que escrevia. O forte de Gruber era a descrição de personagens, o choque sutil de personalidades. Perkins era hábil, em termos de movimento, ação e enredo. Mas seus personagens careciam de substância. Ele não estava realmente interessado em qualquer pessoa além de si mesmo.
— Não parece o tipo de homem capaz de confessar um assassinato logo depois de cometê-lo.
— Sei o que está querendo dizer. E acho que tem razão. Não condiz com Perkins. Não o imagino jamais se atormentando pelo remorso ou sentimento de culpa. Eu diria que ele é o tipo de homem que acredita que o único crime é ser apanhado.
— Contudo, não precisamos apanhá-lo. Ele é que foi procurar-nos. — Levine observou os títulos dos livros na prateleira por trás de Stonegell. — Poderia me dizer alguma coisa sobre as atitudes mentais dos dois recentemente? Em termos gerais, é claro. Eram felizes ou infelizes, contentes ou impacientes?
— Tenho a impressão de que os dois andavam bastante deprimidos. Mas por motivos diferentes. Ambos deixaram o exército há menos de um ano e vieram a Nova York para tentar a carreira de escritor. Gruber estava encontrando dificuldades com os temas. Conversamos a respeito algumas vezes. Ele não conseguia encontrar coisa alguma sobre a qual desejasse realmente escrever, nada que pudesse lhe proporcionar o ímpeto necessário para escrever.
— E Perkins?
— Ele não estava particularmente preocupado em escrever assim. Como já falei, Perkins era bastante hábil, mas um tanto superficial. Tenho a impressão de que, na verdade, um podia ser bastante pernicioso para o outro. Perkins podia perceber que Gruber possuía a profundidade e sinceridade de que ele carecia. E Gruber, por sua vez, achava que Perkins estava livre da busca da alma e das dúvidas que tanto o atrapalhavam. No último mês, os dois começaram a falar em largar o curso, voltar para casa e esquecer tudo. Mas nenhum dos dois poderia fazer isso, pelo menos por enquanto. Gruber não poderia porque o desejo de escrever era muito intenso nele, enquanto Perkins não podia porque o seu desejo de tornar-se um escritor famoso era também muito intenso.
— Um ano parece muito pouco tempo para se ficar tão deprimido assim — comentou Levine.
Stonegell sorriu.
— Quando se é jovem, um ano pode ser a eternidade. A paciência é um atributo dos velhos.
— Acho que tem razão. E o que diz de namoradas, outras pessoas que ambos conheciam?
— Havia uma moça com a qual os dois saíam constantemente. Novamente a rivalidade. Não creio que qualquer dos dois fosse particularmente sério em relação a essa moça, mas cada um queria arrancá-la do outro.
— Sabe o nome dessa moça?
— Claro. Ela estava na turma de Perkins e Gruber. Acho até que tenho aqui o endereço dela.
Stonegell abriu um fichário em cima de sua mesa e examinou-o rapidamente.
— Aqui está. O nome dela é Anne Marie Stone e mora na Grove Street, no Village. Tome aqui.
Levine pegou a ficha que Stonegell lhe estendia, anotou o nome e endereço e depois devolveu-a. Levantou-se e disse:
— Obrigado, Professor. Peço desculpas por tê-lo incomodado.
— Não foi nada. — Stonegell também se levantou, estendendo a mão. Ao apertá-la, Levine descobriu que era ressequida e fina, mas também surpreendentemente forte. — Mas não sei se fui de muita ajuda.
— Também não sei, por enquanto — disse Levine. — Talvez eu tenha apenas desperdiçado o seu tempo, assim como o meu. Afinal, Perkins já confessou o crime.
— Mesmo assim... Levine assentiu:
— Também acho. É o que está me levando a fazer trabalho extra.
— Ainda estou pensando nisso como se fosse... como se fosse um tema de estudo, se entende o que estou querendo dizer. Ainda não é real. Dois jovens estudantes pelos quais eu me interessava, pensando que ainda estariam neste mundo 50 anos depois dos vermes terem devorado meu corpo... e de repente vem me dizer que um deles já virou comida dos vermes e que o outro já pode ser considerado praticamente morto. Ainda não é real para mim. Eles não estarão na aula amanhã de noite, mas ainda não acreditarei.
— Posso entender a sua reação.
— Quer fazer o favor de me avisar se acontecer alguma coisa?
— Pois não.
Anne Mane Stone morava num apartamento no quinto andar de um prédio sem elevador na Grove Street, em Greenwich Village, a um quarteirão e meio da Sheridan Square. Levine descobriu-se inteiramente sem fôlego ao chegar ao terceiro andar. Parou por um minuto para recuperar o fôlego e aquietar o coração disparado. Não havia qualquer outro som no mundo tão alto quanto o bater de seu coração ultimamente. E quando as batidas se tornavam muito rápidas ou descompassadas, o detetive Levine sentia uma espécie de pânico que 24 anos como policial jamais haviam conseguido produzir.
Ele teve de parar novamente no quarto andar. Lembrou com inveja que um amigo bostoniano lhe dissera que um regulamento da cidade de Boston proibia a construção de prédios residenciais de mais de quatro andares sem elevador. Ah, viver em Boston... Ou melhor ainda, em Levittown, onde não existe um único prédio de mais de dois andares.
Ele chegou finalmente ao quinto andar e bateu na porta do apartamento 5B. Houve sussurros lá dentro e depois a janelinha na porta se abriu, um olho azul fitando-o desconfiado.
— Quem está aí? — perguntou uma voz abafada.
— Polícia — disse Levine.
Ele tirou a carteira do bolso e levantou-a o suficiente para que pudesse ser vista pelo olho azul.
— Um momento — disse a voz abafada, fechando a janelinha.
Houve uma sucessão interminável de estalidos e rangidos, indicando que diversas trancas estavam sendo abertas. A porta finalmente se abriu e uma moça baixa e esguia, de calça rosa de toureiro, suéter cinza e rabo de cavalo louro, fez um gesto para que Levine entrasse.
— Sente-se — disse ela, fechando a porta.
— Obrigado.
Levine sentou-se numa cadeira de vime moderna, que era tão desconfortável quanto parecia. A moça sentou-se numa cadeira igual, diante dele. Só que parecia estar se sentindo muito confortável na coisa.
— Foi alguma coisa que eu fiz? — perguntou ela. — Como atravessar a rua fora do sinal ou algo assim?
Levine sorriu. Não importava quão inocente fosse, uma pessoa sempre se sentia culpada quando a polícia aparecia.
— Não — disse ele. — Vim procurá-la por causa de dois amigos seus, Al Gruber e Larry Perkins.
— Esses dois? — A moça parecia calma, embora curiosa, mas não preocupada ou apreensiva. Estava ainda pensando em termos de algo não mais grave que atravessar a rua fora do sinal ou um vizinho chamando a polícia por causa de barulho indevido. — O que eles fizeram?
— Eles são muito chegados a você? A moça deu de ombros.
— Já saí com os dois e mais nada. Estudamos juntos em Columbia. Ambos são bons rapazes, mas não há nada sério, com nenhum dos dois.
— Não sei como dizer, a não ser da maneira mais brusca — declarou Levine. — No início desta tarde, Perkins apresentou-se à polícia e confessou que acabara de matar Gruber.
A moça ficou aturdida. Abriu a boca para falar por duas vezes, mas em ambas tornou a fechá-la. O silêncio foi se prolongando e Levine começou a imaginar que talvez a moça não tivesse lhe contado a verdade, que talvez o seu relacionamento com um dos rapazes fosse sério e profundo. Finalmente ela piscou rapidamente e desviou os olhos, limpando a garganta. Ficou olhando pela janela por um momento, depois tornou a fitar Levine e disse:
— Ele está pregando uma peça. Levine sacudiu a cabeça.
— Receio que não.
— Larry tem às vezes um estranho senso de humor. Não passa de uma brincadeira de mau gosto. Al está vivo, escondido em algum lugar. Ainda não encontrou o corpo, não é mesmo?
— Infelizmente, já encontramos. Gruber foi envenenado e Perkins confessou ter-lhe dado o veneno.
— Aquele vidrinho que Al tinha no apartamento? Mas aquilo não passava de uma brincadeira!
— Não é mais.
A moça pensou por mais um momento, depois deu de ombros, como se estivesse renunciando ao esforço de acreditar ou deixar de acreditar.
— Por que veio me procurar?
— Para ser franco, não sei direito. Alguma coisa está errada no caso e não sei o que é. Não há qualquer lógica. Não consigo entender Perkins e é muito tarde para entender Gruber. Mas preciso conhecer os dois, se quiser entender o que aconteceu.
— E quer que eu lhe fale a respeito dos dois?
— Isso mesmo.
— Quem lhe falou de mim? Larry?
— Não. Ele não a mencionou. Imagino que foi o instinto cavalheiresco. Conversei com o Professor Stonegell.
— Entendo. — Ela se levantou subitamente, num movimento rápido e brusco, como se precisasse se mexer, mesmo que não houvesse qualquer sentido nisso. — Quer um café?
— Quero, sim, obrigado.
— Então venha comigo. Poderemos conversar enquanto preparo o café.
Levine seguiu-a pelo apartamento. Um corredor saía da sala de estar comprida e estreita, passando pelo quarto e banheiro, para chegar à cozinha pequena. Levine sentou-se à mesa da cozinha e Anne Marie Stone começou a fazer o café. Ela foi falando enquanto trabalhava:
— Eles são bons amigos. Isto é, eram bons amigos. Entende o que estou querendo dizer. Seja como for, são bastante diferentes um do outro. Oh, Deus, estou sempre errando no tempo do verbo!
— Fale como se ambos ainda estivessem vivos — sugeriu Levine. — Deve ser mais fácil assim.
— De qualquer forma, ainda não estou mesmo acreditando. Al... ele é muito mais quieto do que Larry. Muito emocional, entende? Ele tem uma espécie de complexo de Messias às avessas. Imagina que deveria ser algo grande, um grande escritor, mas tem medo de não possuir a coisa necessária para isso. E por isso ele se atormenta, fica tentando se analisar, detesta tudo o que escreve, porque não acha bom o bastante, à altura do que deveria estar fazendo. Aquele vidro de veneno foi uma brincadeira, apenas uma brincadeira. Mas era o tipo de brincadeira que tem um fundo de verdade. Com essa angústia permanente, tenho a impressão de que até a morte começa a parecer uma boa fuga, depois de algum tempo.
Ela parou de preparar o café e ficou imóvel por um momento, pensando no que acabara de dizer.
— E agora ele escapou de tudo, não é mesmo? Fico imaginando se ele agradeceria a Larry por ter tirado a decisão de suas mãos.
— Acha que Gruber pediu a Larry para tomar a decisão por ele?
Ela sacudiu a cabeça.
— Não. Em primeiro lugar, porque Al jamais pediria a qualquer pessoa para ajudá-lo a resolver seu problema. Sei disso porque tentei conversar com ele algumas vezes. Mas Al simplesmente recusou-se a escutar. Não porque não quisesse escutar, mas porque não podia fazê-lo. Ele tinha de encontrar a solução por si mesmo. E Larry não é do tipo prestativo. Assim, Larry seria a última pessoa a quem alguém pediria ajuda. Não que Larry seja um mau sujeito. Ele é apenas terrivelmente egocêntrico. Os dois são, só que de maneiras diferentes. Al está sempre preocupado consigo mesmo, enquanto Larry está sempre orgulhoso de si mesmo. Larry diria: "Sou primeiro a favor de mim mesmo", enquanto Al diria: "Será que eu valho alguma coisa?" É mais ou menos assim.
— Os dois tiveram alguma discussão mais violenta recentemente, alguma briga que pudesse impelir Larry ao homicídio?
— Ao que eu saiba, não. Os dois estavam ficando cada vez mais deprimidos, mas nenhum culpava ao outro. Al culpava a si mesmo por não chegar a parte alguma, enquanto Larry culpava a estupidez do mundo. Larry queria a mesma coisa que Al, mas não se preocupava se era capaz ou qualquer coisa assim. Disse-me certa vez que queria ser um escritor famoso, nem que tivesse de assaltar bancos e usar o dinheiro para subornar todos os editores e críticos do país. Também era uma brincadeira, como o veneno de Al, mas tinha igualmente um fundo de verdade.
O café estava pronto e ela serviu duas xícaras, sentando-se no outro lado da mesa. Levine acrescentou um pouco de leite, mas não pôs açúcar. Mexeu o café distraidamente.
— Quero saber por quê — disse ele. — Será que isso parece estranho? A polícia deve querer saber quem e não o porquê. Sei quem, mas quero saber por quê.
— Larry é o único que pode dizer-lhe isso, e acho que ele não o fará.
Levine tomou um gole do café e depois levantou-se.
— Posso usar o telefone?
— Claro. Está na sala, ao lado da estante.
Levine voltou à sala e ligou para a delegacia. Pediu para falar com Crawley. Quando seu parceiro atendeu, Levine perguntou:
— Perkins já assinou a confissão?
— Está descendo agora para isso. Acaba de ser datilografada.
— Segure-o aí depois que ele assinar, está bem? Quero falar com ele. Estou em Manhattan agora, já de volta.
— O que você descobriu?
— Não sei se descobri alguma coisa. Quero apenas falar outra vez com Perkins, mais nada.
— Por que está tão preocupado? Temos o corpo, temos a confissão, temos o assassino numa cela. Por que arrumar um trabalho desnecessário?
— Não sei. Talvez eu esteja apenas me sentindo entediado.
— Está certo, ficarei com ele, à sua espera. Na mesma sala de antes.
Levine voltou à cozinha.
— Obrigado pelo café. Se não há mais nada que se lembre, vou embora agora.
— Não tenho mais nada a dizer. Larry é o único que pode explicar-lhe o que aconteceu.
Ela acompanhou-o até a porta da frente. Levine agradeceu novamente e partiu. Foi mais fácil agora descer a escada.
Ao voltar à delegacia, Levine pediu a ajuda de um detetive chamado Ricco, alto e atlético, de trinta e poucos anos. Ele parecia mais com um representante da Promotoria Distrital do que um tira de delegacia. Levine explicou-lhe qual o papel que teria de desempenhar e os dois foram para a sala em que Perkins estava esperando, junto com Crawley.
No instante em que entrou na sala e antes que Crawley pudesse denunciar o plano, dizendo alguma coisa a Ricco, Levine foi logo apresentando:
— Perkins, esse é Dan Ricco, um repórter do Daily News. Perkins olhou para Ricco com um interesse óbvio, a primeira demonstração de interesse e animação que Levine já vira nele.
— Um repórter?
— Isso mesmo — disse Ricco, olhando em seguida para Levine e perguntando, de acordo com seu papel: — Qual é o caso?
— Um estudante — disse Levine. — O nome dele é Larry Perkins. Envenenou um colega.
— É mesmo? — Ricco olhou para Perkins sem muita ansiedade, virando-se novamente para Levine. — Por quê? Alguma mulher metida na história? Sexo?
— Não. Parece que foi alguma motivação intelectual. Os dois queriam ser escritores.
Ricco deu de ombros.
— Dois caras com a mesma idéia? O que há de tão quente num caso assim?
— O problema é que o Perkins quer ser famoso. Tentou ser famoso como escritor, mas não estava dando certo. Assim, decidiu ser um assassino famoso.
Ricco olhou para Perkins.
— É isso mesmo?
Perkins olhava furioso para os dois, mas especialmente para Levine.
— Que diferença isso faz?
— O garoto vai pegar a cadeira elétrica, é claro — disse Levine, afavelmente. — Já temos a confissão assinada dele e tudo o mais. Mas até que simpatizei com ele. E não gostaria de vê-lo desperdiçar a vida a troco de nada. Pensei que você poderia lhe dar uma boa manchete na segunda página, algo que ele pudesse pendurar na parede da cela.
Ricco soltou uma risadinha e sacudiu a cabeça.
— Não há a menor possibilidade. Mesmo que eu escrevesse a reportagem, o editor local não deixaria passar. Esse tipo de história está acontecendo às dúzias. Há gente matando gente em Nova York nas 24 horas do dia. A menos que haja muito sexo ou seja um daqueles assassinatos em massa, como o sujeito que pôs uma bomba no avião, um assassinato em Nova York é coisa sem importância. E quem precisa de coisas assim na primavera, quando todo mundo está animado?
— Você tem influência no jornal, Dan — insistiu Levine. — Não poderia ao menos dar um jeito para que a história dele fosse transmitida pelas agências noticiosas?
— Não há a menor possibilidade. O que ele fez que centenas de camaradas não façam todos os anos em Nova York? Desculpe, Abe. Bem que gostaria de lhe prestar esse favor, mas não será possível.
Levine suspirou.
— Está certo, Dan. Se é você quem diz, então não se pode mesmo fazer nada.
— Desculpe, Abe. — Ricco sorriu para Perkins. — Desculpe você também, garoto. Deveria ter esfaqueado uma corista ou algo assim.
Ricco retirou-se e Levine olhou para Crawley, que estava completamente aturdido, puxando o lóbulo da orelha. Levine sentou-se diante de Perkins e disse:
— E agora?
— Deixe-me em paz por um momento — resmungou Perkins. — Estou tentando pensar.
— Eu estava certo, não é mesmo? — insistiu Levine. — Você queria sair de cena num esplendor de glória.
— Está bem, está bem. Al seguiu o seu caminho, eu segui o meu. Qual é a diferença?
— Não há diferença. — Levine levantou-se e encaminhou-se para a porta, com um ar cansado. — Vou mandar que o levem agora de volta à cela.
— Espere um instante! — disse Perkins subitamente. — Sabe que não o matei, não é mesmo? Sabe que ele cometeu suicídio, não é mesmo?
Levine abriu a porta e gesticulou para os dois guardas uniformizados esperando no corredor.
— Espere! — gritou Perkins, desesperado.
— Sei de tudo — disse Levine. — Gruber realmente se matou e imagino que você queimou o bilhete que ele deixou.
— Sabe muito bem que foi isso mesmo!
— É uma pena, garoto.
Perkins não queria sair. Levine ficou observando impassível enquanto o rapaz era arrastado dali. Somente depois é que se permitiu relaxar, deixar que a tensão se esvaísse. Arriou numa cadeira, contemplando as veias nas costas das mãos.
Crawley rompeu o silêncio, dizendo:
— Que história foi essa, Abe?
— Exatamente o que você ouviu.
— Gruber cometeu suicídio.
— Os dois cometeram.
— E o que vamos fazer agora?
— Nada. Investigamos o caso, temos uma confissão, efetuamos uma prisão. Não há mais nada a fazer.
— Mas...
— Mas coisa nenhuma! — berrou Levine, olhando furioso para o seu parceiro. — O idiota vai a julgamento, Jack! E vai ser condenado à cadeira elétrica! Ele próprio escolheu. Foi uma opção dele. Não lhe fiz uma falsa acusação. Ele próprio escolheu o seu fim. E vai receber o que queria.
— Mas, Abe...
— Não quero saber de mais nada!
— Mas tenho de falar, Abe...
Levine levantou-se abruptamente e tudo saiu aos borbotões, toda a sua raiva, indignação e frustração.
— Com todos os diabos, você não sabe de nada! Ainda tem pelo menos mais seis ou sete anos. Não sabe qual é a sensação de passar a noite acordado na cama, escutando o próprio coração pular uma batida de vez em quando, imaginando quando irá pular duas e você estará morto. Não sabe qual é a sensação de saber que seu corpo está começando a morrer, que está ficando velho e daqui por diante será sempre descida.
— O que isso tem a ver com...
— Vou lhe dizer o quê! Eles tinham uma opção! Os dois eram jovens, corpos e corações saudáveis, com muitos anos pela frente. E preferiram jogar tudo isso fora! Preferiram jogar fora o que eu não tenho mais! Não acha que eu gostaria de ter essa opção? E se eles preferiram morrer, pois que morram!
Levine estava ofegando do esforço, inclinado sobre a mesa e gritando para Jack Crawley. E agora, no silêncio súbito, enquanto não estava falando, ouviu o farfalhar irregular de sua respiração, sentiu os tremores dos nervos e dos músculos por todo o seu corpo. Arriou cuidadosamente numa cadeira e ficou sentado ali, olhando para a parede, tentando recuperar o fôlego.
Jack Crawley estava dizendo alguma coisa, muito longe, mas Levine não podia ouvi-lo. Estava escutando outra coisa, o som mais alto no mundo inteiro. O pulsar irregular de seu próprio coração.
HOMEM MORDE CACHORRO - Donald Honig
O lugar para se começar uma carreira jornalística, segundo dizem, é uma cidade pequena. Numa cidade pequena, afirmavam todos, eu aprenderia os conceitos básicos: como se fazem as verdadeiras notícias, o que faz um jornal correr, sua devoção inabalável aos leitores, ética e assim por diante.
Assim, determinado a me destacar na profissão escolhida, eu estava ansioso em começar.
Apenas para ilustrar como estamos todos expostos à indiscriminação caprichosa do acaso 24 horas por dia, posso dizer que consegui o meu primeiro emprego puramente por acaso. E que acidente afortunado iria ser! (Eu aprenderia mais tarde que no mundo dos jornais qualquer acidente é sempre afortunado.) Acontece que deixei à mostra minha máquina de escrever na estação rodoviária de uma pequena cidade (que prefiro deixar sem identificar, por determinadas razões éticas que em breve ficarão evidentes). A máquina de escrever foi observada por um cavalheiro que era muitas coisas em uma, dono de jornal, editor, redator e repórter do jornal local, de olhos castanhos pequenos e astutos, que sempre associamos aos jornalistas eminentes, quem quer que sejam. Ele presumiu pela máquina de escrever que eu era uma pessoa alfabetizada e ambiciosa, que sabia como escrever em pelo menos uma língua. E assim fui descoberto e contratado.
Saímos da estação rodoviária e o editor, cujo nome era Mr. Cyril Flagg, levou-me direto para o seu escritório, que ficava por cima de um supermercado. Era um escritório um tanto pequeno, com duas escrivaninhas e cadeiras, linóleo um tanto gasto, papel de parede desbotado, alguns vasos de gerânios desconsolados e quase nunca regados, uma inundação de papel de aparência emocionante por toda parte, o próprio cheiro de excitação e atividade febril, a emoção do mundo jornalístico.
— É isso aí.
Mr. Flagg desabotoou o colarinho da camisa e deixou que a gravata deslizasse para o lado. Parecia um verdadeiro jornalista, i
— É maravilhoso... — murmurei.
— O outro camarada desapareceu — disse Mr. Flagg, laconicamente.
— Quem?
— Seu antecessor.
— Está querendo dizer que ele foi embora?
— Isso mesmo. Não resta a menor dúvida a respeito. Mas ninguém sabe para onde ou por quê.
Ele mostrou um exemplar de The Dash, datado de várias semanas antes. A manchete dizia: EDITOR ASSOCIADO DESAPARECE. Baixou o jornal e acrescentou:
— Toda a edição foi vendida. A melhor história que tivemos, em muitos meses. As notícias de desaparecimentos jamais deixam de atrair as pessoas. É algo de mórbido no sangue delas.
— Talvez ele ainda apareça.
— Não é provável — disse Mr. Flagg. — Quando uma pessoa desaparece por aqui, desaparece permanentemente.
Não gostei da impressão que isso deixava no ar. Mr. Flagg não parecia absolutamente lamentar o desaparecimento de seu antigo empregado. O que era muito estranho.
— Mas qual é o seu nome? — indagou Mr. Flagg.
— Andrew Gerber.
— Pode compreender o relacionamento entre você e o seu jornal, Gerber? É um relacionamento mais sagrado do que aquele entre médico e paciente. A divulgação de notícias, que interessam e influenciam as mentes das pessoas, é uma missão das mais elevadas. Devemos sempre fornecer forragem para o consumo público e jamais revelar nossas fontes. Está entendendo, Gerber?
— Sim, senhor.
— Há um código de ética. A partir do momento em que começa a trabalhar aqui, tem de prestar um juramento.
— Compreendo perfeitamente, senhor.
— Ótimo!
E nos apertamos as mãos.
Em poucos dias, eu estava confortavelmente instalado em meu trabalho. Da minha escrivaninha, podia ver a rua principal da cidadezinha e observar tudo o que acontecia, todas as idas e vindas. Teria sido uma situação ideal, só que nada jamais acontecia, quase não havia idas e vindas. Era uma cidadezinha sonolenta, com mínimas ondulações de animação.
Depois de algumas semanas de marasmo, eu estava começando a me perguntar para que uma cidade como aquela precisava de um jornal. Afora o homem que dava corda nos relógios públicos e a taverna que dava corda no homem, parecia não haver necessidade de muito mais. Com paciente fidelidade, The Dash registrava nascimentos, mortes e aniversários, além de outros eventos nostálgicos. Havia ocasiões em que se passavam semanas sem que houvesse um único nascimento ou morte. Isso serve para mostrar como aquelas pessoas estavam indiferentes à maré da história.
Mas Mr. Flagg mostrava-se sistematicamente excitado, como se esperasse alguns assassinatos a machado, inundações e pestes diariamente. Às vezes, para encher espaço, eu tinha de escrever descrições do pôr-do-sol. Ou ir à escola e entrevistar as crianças sobre tópicos tão controvertidos como o Natal, sorvetes e bicicletas.
Um dia, no entanto, houve uma crise. Não havia absolutamente nada para pôr na primeira página. Tudo na cidade estava completamente parado. Até mesmo o tempo permanecia inalterável há semanas. Sentei à minha escrivaninha, contemplando angustiado a imobilidade indestrutível lá fora. Desesperei da possibilidade do jornal sair naquela semana. A sagrada tradição de jamais perder um número parecia estar em perigo. Foi o momento mais trágico da minha vida, pelo menos até aquele momento.
Virei-me para Mr. Flagg, que estava sentado à sua mesa, mergulhando a pena no tinteiro e fazendo borrões no mata-borrão verde. Mencionei o impasse em que estávamos.
— Está mesmo difícil? — disse ele, continuando a fazer suas manchas.
— Está, sim, senhor.
— Pois então temos de tomar uma providência — murmurou ele, continuando a fazer os borrões, aparentemente fascinado por aquilo.
— Isso já aconteceu alguma vez antes?
— Freqüentemente. Aconteceu a mesma coisa algumas semanas antes de sua chegada. Fomos salvos pelo desaparecimento de seu antecessor.
Experimentei novamente uma sensação estranha, inquietante.
— Devemos agora enfrentar a nova emergência — acrescentou Mr. Flagg.
— O que vamos fazer?
— Vamos usar a imaginação. Deixamos de ser analíticos e nos tornamos criativos. Deixe-me ver... — Ele pôs a mão no queixo e ficou olhando para a parede, pensativo. — Podemos exigir que um determinado cadáver seja exumado e efetuada uma autópsia. Não, não vai ser possível... Acho que já usamos esse expediente há alguns anos.
Achei que ele estava sendo indevidamente jocoso. Mr. Flagg levantou-se e foi até a parede do outro lado, pegando a espingarda pendurada sobre pregos, que até então eu considerara como uma relíquia inofensiva e senil. Ele soprou uma nuvem de poeira do cano. Depois, examinou a culatra, com satisfação. Contornou a mesa e tirou alguns cartuchos de uma gaveta, sacudindo-os na mão. Abriu a espingarda, carregou-a, tornou a fechá-la. Olhou para mim e disse:
— Ponha o chapéu.
Obedeci e saímos juntos do escritório. Descemos pela escada dos fundos e embarcamos no carro de Mr. Flagg. Deixamos a cidade, Mr. Flagg, eu e a espingarda. Seguimos por uma velha estada de terra até avistarmos um homem andando.
— Ah! — exclamou Mr. Flagg, com o maior prazer. — O Velho Jim!
Ele parou o carro, pegou a espingarda e saltou. Fui atrás. Ele fitou-me, uma expressão solene nos olhos castanhos e astutos de jornalista.
— Está lembrado de seu juramento, Gerber?
— Sim, senhor.
E continuamos em frente. O Velho Jim caminhava em nossa direção. Ele acenou quando nos viu, soltando uma risadinha senil.
— Fazendo alguma caçada, Cyril? — ele perguntou a Mr. Flagg.
— Isso mesmo — disse Mr. Flagg, solenemente. — E por uma boa causa.
Ao que ele levantou o rifle, apontou cuidadosamente para o Velho Jim e disparou. Houve uma terrível explosão. Depois que a fumaça se dissipou e recuperei um pouco o controle, encontrei coragem para me aproximar do Velho Jim. Ele estava caído na estrada, serenamente, o peito ainda fumegando. Pode-se muito bem imaginar o meu horror.
— Muito bem — disse Mr. Flagg, calmamente, soprando o cano da espingarda através dos lábios contraídos. — Aí tem a sua história. Dê o seguinte título: "Jim Penn assassinado por pessoa ou pessoas desconhecidas." Tome nota.
Sendo um empregado e vendo a espingarda ainda fumegante nas mãos dele, fui compelido a obedecer, com toda presteza. Peguei o bloco e o lápis e pus-me a escrever, embora mal conseguisse segurar o lápis.
— É uma boa história — comentou Mr. Flagg, tirando o cartucho vazio.
Ele guardou a espingarda no carro e voltou com uma máquina fotográfica. Tirou diversas fotos.
— Está ótimo — disse ele. — Esta noite você entrevistará a família. Escreverei um editorial. Puxa, como está quente hoje...
Assassinato na estrada de terra. Dava uma notícia sensacional. Arrancou as pessoas de suas várias letargias. Excitadas, todas falaram sobre o crime. Enchemos um número inteiro com a história e as entrevistas, relatando o enterro no número seguinte e usando mais dois números subseqüentes com as investigações. Ainda sobrou indignação editorial para encher mais um número. Mr. Flagg disse que talvez devêssemos acusar alguém do homicídio e fazer a cobertura do julgamento, mas acabou se decidindo contra.
— Já conseguimos cinco números com isso — comentou ele. — Estou satisfeito. Está vendo, Gerber? Às vezes é preciso improvisar. Algum dia você terá o seu próprio jornal. Espero que se lembre e aprecie o que estou lhe ensinando aqui.
É desnecessário dizer que eu vivia num estado de horror intenso e permanente durante aquelas semanas. Não me atrevia a encarar as pessoas. Assim que terminava o trabalho, ao final do dia, eu corria para casa, com a gola do casaco levantada, a consciência atormentada por ruídos terríveis. Compreendi nessa ocasião que algo horrível acontecera ao meu antecessor e comecei a temer por minha própria vida. Assim, a fim de evitar outro impasse, que poderia implicar o meu próprio sacrifício no altar de The Dash, passei a trabalhar com um vigor adicional no esforço de coletar notícias. No processo, estava me tornando um jornalista, o que era, afinal de contas, o mais importante.
Mas alguns meses depois deparamos com outro impasse, ainda mais formidável do que o anterior. Páginas em branco contemplavam-nos desdenhosamente de todos os cantos do escritório. Sentei e observei Mr. Flagg, esperando. Um calafrio de terror percorria-me a espinha. Estava apavorado, mas também fascinado.
Mr. Flagg permaneceu sentado numa meditação impassível por várias horas. Compreendi que ele podia muito bem estar cogitando da minha própria liquidação. Mr. Flagg fitou-me duas ou três vezes e pude sentir minha imagem passando friamente por sua imaginação. Os olhos castanhos astutos estavam profundamente pensativos.
Ele fez um gesto brusco e levantei-me de um pulo.
— Ora, Gerber, o que houve?
— Nada — murmurei, constrangido, sentindo o coração bater descompassado.
— Eu estava me levantando para ir embora — disse ele.
— Tão cedo?
— Isso mesmo. Vou procurar alguma coisa para The Dash. Estamos bem precisados.
Ele saiu e tornei a arriar na cadeira. Sabia que estava numa situação perigosa. A única coisa a meu favor era o fato de que ele liquidara recentemente um dos seus editores; se outro desaparecesse agora, poderia não despertar o interesse dos leitores.
Mas eu jamais poderia prever com certeza como sua mente ia funcionar. Dali por diante, tinha de ficar em alerta permanente.
A crise ainda persistia na manhã seguinte. Depois de meia hora de meditação silenciosa, Mr. Flagg levantou-se, pôs o chapéu e chamou-me. Segui-o, como um robô, frio e hipnotizado. Descemos. Entramos no carro. Rodamos por meia hora pelas ruas quietas, de um lado para outro. Ele deixara a espingarda na parede. Portanto, desta vez seria um esquema diferente.
E depois avistamos uma mulher atravessando uma rua transversal. Mr. Flagg atravessou o quarteirão a toda velocidade e acertou-a em cheio. Ela voou com as pernas viradas para cima, deu uma volta no ar e foi cair confortavelmente em cima de uma sebe bem aparada. Virei-me no assento e olhei para trás.
— E então? — perguntou Mr. Flagg.
— Ela está se mexendo.
— Já é suficiente. Já pensou na manchete? "Motorista irresponsável atropela mulher." Vamos lançar a culpa num adolescente, protestar com veemência pela inoperância do Conselho de Segurança. E vamos também acusar o Departamento de Trânsito por aceitar subornos e licenciar motoristas incompetentes. Entendido?
— Sim, senhor.
— Ótimo. Vou deixá-lo na próxima esquina. Poderá voltar correndo e entrevistá-la. Não se esqueça de mandá-la soletrar seu nome corretamente.
A história manteve-nos ocupados por duas semanas e aliviou uma pouco a pressão. Tivemos de nos retratar a propósito dos subornos, é claro, mas o fizemos de forma a lançar ainda mais suspeitas. Mr. Flagg ficou bastante satisfeito e eu senti-me aliviado, pois a ameaça imediata à minha vida fora afastado.
Mr. Flagg perguntou-me um dia se eu estava gostando do meu aprendizado.
— Estou gostando muito.
— Acha que já aprendeu o bastante?
— Já, sim.
Ele lançou-me um olhar inquisitivo e inquieto. Foi então que compreendi que Mr. Flagg estava com tanto medo de mim quanto eu tinha dele.
Naquela noite, fiquei até mais tarde no escritório, examinando os arquivos. Algumas das histórias eram terríveis, mas não pude deixar de sentir-me fascinado. Descobri uma manchete, de vários anos antes, sobre um "Incendiário Louco", que queimara a escola e o hospital. Em outra ocasião, alguém abrira a jaula do leão de um circo visitante e três pessoas morreram antes que a polícia pudesse controlar a situação. E houve também alguém que jogou uma granada de mão num acampamento de bandeirantes. Essa história resistiu por oito números, com entrevistas elaboradas. Foi seguida por uma fotografia de Mr. Flagg recebendo um prêmio de alguma associação de editores por uma cobertura de profundo interesse humano.
Voltei correndo para casa naquela noite, com um excita-mento terrível e exultante. Fiquei andando pelo quarto durante a noite inteira, fumando um cigarro atrás do outro. Comecei a sentir pela primeira vez a emoção e excitamento genuínos do trabalho de jornal. As têmporas latejavam com uma exultação que era quase insuportável. Nunca houvera um seqüestro ou um afogamento. Ou um bombardeador louco. Talvez Mr. Flagg aceitasse uma dessas minhas sugestões para a próxima vez.
Eu não conseguia mais agüentar. Acabei dormindo, de pura exultação.
E depois várias semanas se passaram antes que chegássemos a outro hiato sem notícias. Mr. Flagg parecia mais profundamente preocupado do que em qualquer outra ocasião anterior. Mas eu estava ocupado a escrever o que tinha certeza de que seria uma manchete sensacional.
— Gerber, chegamos a outro impasse — disse ele finalmente, a voz cansada.
Ele estava ficando velho, perdendo o vigor imaginativo. A história do atropelamento não fora tão bem-sucedida quanto esperara.
— Estou trabalhando em algo neste momento, senhor.
— Ótimo. Deixe-me dar uma olhada no que fez.
Eu tinha acabado. Levantei-me. Eu estava me tornando um jornalista de verdade. Podia senti-lo. Levei a manchete para ele. Lá estava, em letras maiúsculas: EDITOR PREMIADO ENCONTRADO ASSASSINADO EM SEU ESCRITÓRIO. Enquanto ele se virava, bati com o peso de papel em sua cabeça... e bati... e bati...
VÁ DORMIR, QUERIDA - James Holding
A Sra. Clyde Latimer estava sentada em silêncio ao volante de seu conversível De Soto cinzento, esperando que a sineta da escola tocasse. Era uma mulher muito bonita, de pele dourada, cabelos louros, corpo esguio. Os olhos castanhos, espiando através do pára-brisas, estavam parados e luminosos.
O carro estava encostado no meio-fio, a uma centena de metros da entrada da escola. Estava perto o bastante, no entanto, para ela ouvir a sineta de encerramento das aulas, às três e meia, o suficiente para divisar as crianças que começaram imediatamente a sair do prédio e se dispersar, voltando para suas casas a conversarem alegremente. Era mais um dia de aula que terminava. E naquele subúrbio tranqüilo de uma cidade cujo nome a Sra. Latimer não conhecia, quase todas as crianças que cursavam a escola primária voltavam a pé para casa. Não iam em carros guiados por suas mães apressadas, como acontecia nas escolas da cidade grande, com as quais ela estava familiarizada.
A Sra. Latimer estava começando a ficar ansiosa quando a criança que esperava apareceu. Com diversos papéis na mão, uma menina do jardim de infância ou talvez primeiro ano primário saiu da escola e foi descendo a rua, sozinha, sem qualquer pressa.
A Sra. Latimer mexeu-se. Um excitamento reprimido animou-lhe o rosto. Levantou uma das mãos para proteger os olhos, observando o vulto lépido da menina que se afastava. Havia uma flexibilidade e exuberância na atitude da menina que lhe provocou um aperto na garganta. Mas ela observou cuidadosamente, respirando fundo, até compreender que a rota da menina estava determinada, afastando-se da escola em linha reta, na direção sul.
Ela estendeu a mão e girou a chave, ligando o carro. Pisou no acelerador e afastou-se do meio-fio.
O carro estava a 50 quilômetros horários quando passou pela menina na calçada. A Sra. Latimer olhou-a rapidamente, pelo canto dos olhos, ao passar.
Isso mesmo, pensou ela, a alegria invadindo-a, como a primavera.
Ela avançou mais 200 metros da rua que a menina estava percorrendo. Havia cada vez menos construções. Apenas uma que outra casa a margeava agora. Era quase como uma estrada rural, pensou ela, quase como Merriweather Lane, no pequeno povoado nas montanhas em que conhecera seu marido, Clyde. Plátanos grandes, com uma nova folhagem verde, projetavam sombras sobre a estrada de asfalto, os galhos se encontrando lá em cima.
A Sra. Latimer parou no lado direito da estrada, sob uma das árvores. Virando a cabeça para olhar ao redor, não avistou ninguém além da menina ainda distante, mas se aproximando. Enquanto esperava, ela empurrou a alavanca no painel que baixava a capota do conversível. Arriou em dobras ordenadas por trás do banco traseiro.
Quando a menina passava pelo carro, na calçada do outro lado, a Sra. Latimer abriu a porta da direita e disse, com um sorriso:
— Estou indo no seu caminho, querida. Pensei tê-la reconhecido quando passei por você lá atrás. Entre e a levarei até em casa.
A menina hesitou.
— Não se preocupe — disse a Sra. Latimer, gentilmente.
— Conheço sua mãe. E sei também onde você mora. Chegarei lá num instante. Vamos, entre. Não há problema.
Ela continuou a manter a porta aberta, insinuantemente.
Os olhos da menina estavam ocupados a contemplar o carro.
— Um conversível... — murmurou ela. — Nunca andei antes num carro assim.
— Pois esta é a sua oportunidade. Entre, querida. Não há motivo para ficar assustada.
— Sei disso. Mamãe diz que não devo entrar no carro de algum homem estranho. Mas você não é um homem, não é mesmo? É uma mulher. E muito bonita. Acho que não tem nada demais.
Ela sentou-se no banco de couro ao lado da Sra. Latimer e fechou a porta pesada, acrescentando:
— E também cheira bem. Igualzinho a mamãe.
Ela recostou-se no assento largo, mantendo no colo os papéis da escola, cobertos de desenhos infantis. Inclinou a cabeça e olhou para cima.
— É como andar de barco não é mesmo? Pode-se ver o céu. A Sra. Latimer engrenou o carro e partiu. Enquanto guiava, olhava a todo instante para a menina, com ternura e amor. E contemplando os cachos louros, os olhos azuis, o rosto sério, ela sentiu que algo como uma mão musculosa lhe envolvia o coração e apertava com força. Afetuosamente, ela registrou as sandálias de couro preto de verniz da menina, o vestido lavanda sob o casaco aberto. Suspirou aliviada.
— Sabe, querida, eu estava com receio de ter apanhado a menina errada — confidenciou a Sra. Latimer. — Mas não me enganei. Você é exatamente a menina certa.
— Fico contente por isso. Qual é o seu nome, por favor?
— Sra. Latimer. E o seu?
— Joan. — A menina falou com um jeito de adulta. — Mas todo mundo me chama de Joannie.
— Joan? Joannie? — Havia um tom de desapontamento na voz da Sra. Latimer. — É um nome bonito. Sempre a chamei assim, querida?
Joan ficou aturdida.
— Acho que não — disse ela, finalmente. — É que conhece apenas minha mãe. Ainda não me conhecia, até agora.
O carro estava avançando agora a uma boa velocidade, as molas atenuando os solavancos quando passava pelos buracos deixados pelo inverno inclemente que acabara de passar. A Sra. Latimer virou à esquerda no cruzamento seguinte. Joan não percebeu. Estava examinando com interesse a alavanca que controlava a capota de lona do conversível.
— Aposto que meu pai poderia comprar um conversível, se quisesse — disse Joan. — Eu bem que gostaria que ele comprasse. Adoro conversíveis. Ou pelo menos gosto do seu, Sra. Latimer. Temos um Chevrolet sedã.
A Sra. Latimer não desviava os olhos da estrada.
— Um Chevrolet? — disse ela, surpresa. — Papai deve ter comprado sem me consultar. Sempre tivemos De Sotos.
— Eu estava falando do meu papai. Nunca tivemos um De Soto. Só Chevrolets.
A Sra. Latimer ficou em silêncio, concentrando toda a sua atenção na estrada. Quando falou, foi para mudar de assunto:
— Diga-me uma coisa, querida: como está indo na escola? Joan levantou os papéis em seu colo.
— Miss Gentry diz que sou muito boa em arte. Tenho notas muito boas nisso. Mas não sei ler muito bem. Mas também estou apenas no primeiro ano.
— O que aconteceu? — perguntou a Sra. Latimer, com alguma preocupação. — Deveria estar terminando o segundo ano agora. Aos seis anos, você já deveria estar mais adiantada. Terei uma conversa com Mr. Lawrence na primeira oportunidade.
— Tenho apenas cinco anos, Sra. Latimer. E minha professora é Miss Gentry. Não sou estúpida o bastante para estar ainda no primeiro ano se tivesse seis anos!
Joan estava magoada e a Sra. Latimer procurou acalmá-la:
— Claro, claro... Estou um pouco confusa. Desculpe-me, querida. Pensei que fizesse seis anos em outubro.
— Faço cinco anos em agosto — disse Joan, firmemente.
— Não deixe os meus enganos tolos aborrecerem-na, Joannie. Miss Lawrence já conseguiu ensiná-la a ver as horas?
— Miss Gentry.
— Isso mesmo, Miss Gentry. Ela já lhe ensinou a ver as horas?
— Apenas em parte. Sei que horas são quando os ponteiros do relógio estão retos para cima ou para baixo e...
Ela olhou para fora e parou de falar abruptamente, espantada. E um momento depois acrescentou, em tom de urgência:
— Sra. Latimer! Está indo pelo caminho errado! Esta não é a rua que leva à minha casa!
— Sei disso, Joannie. Mas achei que você gostaria de dar uma volta antes de ir para casa. Disse que gostava de passear no meu carro conversível.
— E gosto. Mas mamãe não vai ficar preocupada, sem sabei onde estou?
— Posso telefonar para ela e avisar onde você está, querida — sugeriu a Sra. Latimer, suavemente. — Com isso, ela não vai mais se preocupar.
— Neste caso, está certo — disse Joannie. — Basta avisar a mamãe. Eu adoraria dar um passeio no seu conversível.
— Eu tinha certeza de que gostaria.
As palavras da Sra. Latimer tinham um tom de ansiedade inequívoca, de profundo excitamento.
— De onde vai telefonar?
— Talvez haja um telefone naquela confeitaria. Vou verificar. — A Sra. Latimer acenou com a mão para uma das lojas de um centro comercial de que estavam se aproximando. — E quer que eu lhe compre uma barra de chocolate?
— Compra mesmo? Adoro chocolate. Sem castanhas.
— Sem castanhas. Pode deixar que não vou esquecer.
A Sra. Latimer encontrou uma vaga no imenso estacionamento do centro comercial, ocupado por centenas de carros. O tráfego vespertino era intenso.
— Fique me esperando aqui no carro, Joannie. Voltarei num minuto. Já esteve aqui antes?
— Acho que não. Onde fica?
— Voltarei num minuto — repetiu a Sra. Latimer, sem responder à pergunta de Joan.
Ela afastou-se rapidamente, os quadris ondulando, avançando pela multidão. Onde fica a confeitaria, perguntou-se ela, apavorada, onde fica a confeitaria? Não sei. Não consigo me lembrar. Não consigo me lembrar de uma porção de coisas.
Ela voltou ao carro rapidamente.
— O que mamãe disse? — perguntou Joan, fazendo um esforço para manter os bons modos e não olhar para a barra de chocolate na mão da Sra. Latimer. — Falou que estava bem?
— Isso mesmo, querida. Posso ficar com você por mais uma hora. Aqui está seu chocolate.
Ela entrou apressadamente no carro, saiu da vaga de marcha à ré e afastou-se.
— Obrigada — disse Joan, polidamente, pondo-se a tirar o papel que embrulhava o chocolate.
A Sra. Latimer continuou na estrada por mais alguns quilômetros, depois virou num cruzamento. Não demorou muito para que deixassem para trás a movimentada área urbana, passando a percorrer mais devagar os campos aprazíveis.
— Não vai me oferecer uma mordida do seu chocolate, Linda? — perguntou a Sra. Latimer, em voz jovial.
Ela virou-se para contemplar, com seus olhos luminosos, a menina loura sentada a seu lado. O sol começava a afundar para o horizonte, os raios compridos e inclinados, tão dourados quanto os cabelos de Joannie.
Joannie ficou imóvel, a barra de chocolate na metade do caminho para a sua boca. E ela disse em seguida, com uma risada:
— É muito engraçada, Sra. Latimer. Chamou-me de Linda.
— E o que há de engraçado nisso, querida? Não é o seu nome?
— Não, meu nome não é Linda. Já lhe disse isso, Sra. Latimer. Meu nome é Joan.
A Sra. Latimer tornou a fixar os olhos na estrada, dizendo jovialmente:
— Lá estou eu novamente, cometendo mais enganos. Desculpe-me, Joannie. Não é engraçado?
— É, sim — concordou Joan. — Dê uma mordida no chocolate.
A Sra. Latimer inclinou-se para morder o chocolate, com dentes brancos e perfeitos.
— Hum... — Ela lambeu os lábios. — Está delicioso. Permaneceram num silêncio agradável por alguns minutos.
Depois, Joan, que estivera pensando, perguntou abruptamente:
— Por que me chamou de Linda, Sra. Latimer?
O corpo da Sra. Latimer se empertigou no assento. Sentia subitamente que estava se afastando, quase fisicamente, de uma sinistra presença de pesadelo, à espreita numa caverna escura em algum lugar dentro dela, esperando para dar o bote com um rugido apavorante. Ela virou a cabeça de um lado para outro, por diversas vezes, inconscientemente, como se tentasse aliviar um pescoço dolorido.
— Linda... — sussurrou ela. — Por que diz essas coisas tão horríveis, Linda?
— Não sou Linda. Está se sentindo mal, Sra. Latimer?
— Estou um pouco tonta, querida. Só isso. Não é nada sério. Vou parar aqui por um minuto, até a vertigem passar.
— Sinto muito que não esteja passando bem. Gosto da senhora.
— Obrigada. E eu também gosto muito de você.
Ela já estava se sentindo melhor. O monstro à espreita na caverna estava se desvanecendo, quase sumindo. Sua mente estava controlada. Nem mesmo precisou parar. Continuou a guiar.
— Fico contente que goste de mim, Joannie. Não a chamei de Linda desta vez, não é mesmo? — Ela ficou calada por um momento e depois acrescentou: — Também tenho uma filha pequena como você, chamada Linda.
— Ahn... — Isso explicava tudo para Joan. — E me chama de Linda porque sou parecida com a sua filha, não é mesmo?
— Exatamente, querida. É muito parecida com ela. Linda também tem cachos louros como os seus. E olhos azuis. E também usa sapatos de couro preto de verniz. E vestidos como o seu.
— Foi minha avó quem fez esse vestido para mim — disse Joan. com um toque de vaidade.
— Sei disso. Ela também faz vestidos para Linda.
— Linda é da minha escola?
— Não, querida. Você não a conhece.
— Mas disse que conhecia minha mãe.
— E conheço.
A Sra. Latimer sentiu-se imediatamente invadida por uma enorme compaixão por todas as crianças pequenas, inocentes e lindas. E, de certa forma, todas as crianças pareciam-lhe ser Linda. Eram todas iguais. Eram todas uma só. Eram todas Linda. Bonita. Incrivelmente bonita.
— Tive um pesadelo horrível há pouco tempo, Joannie — explicou ela, olhando fixamente para a frente, através do pára-brisas. — Não posso esquecer. E isso é também muito estranho, pois estou sempre esquecendo lugares, nomes, até mesmo as coisas mais simples.
— Detesto pesadelos — comentou Joan, compreensiva. — Também os tenho.
Ela hesitou por um instante e depois perguntou:
— Como foi o seu pesadelo?
— Não deveria contar-lhe, querida. Foi horrível demais. A seu respeito. Isto é, sobre Linda, minha filha. O papai dela e eu íamos levá-la ao circo pela primeira vez. Já foi alguma vez ao circo?
— No verão passado. Adorei.
— Então você sabe como uma criança fica excitada ao ir ao circo pela primeira vez. Linda estava assim. Mal conseguia ficar sentada. Estava risonha, alegre, falou do circo durante vários dias antes. Íamos ao circo de tarde... à matinê.
— Meu papai diz que é a melhor sessão. Os animais ainda não estão cansados.
— Tem razão. Linda e eu estávamos esperando quando o papai dela voltou do trabalho para nos pegar, em seu carro. Partimos imediatamente para o circo.
— Até agora é um sonho bonito — comentou Joan.
As mãos da Sra. Latimer apertaram o volante com toda força.
— No meu sonho, estávamos seguindo pela estrada para o circo quando, de repente, outro carro surgiu do nada e bateu no nosso, de frente. E todos saímos voando pelo ar, Linda, o papai dela e eu. Estávamos num conversível com a capota arriada, exatamente como este. E Linda morreu. O papai dela também morreu.
A Sra. Latimer soltou uma risada.
— Mas eu caí numa moita à beira da estrada e não me machuquei muito.
Ela fechou os olhos por um instante, mas os globos oculares pareciam se comprimir contra as pálpebras, como animais testando cautelosamente as barras de uma jaula. Por isso, ela abriu os olhos rapidamente.
Joan estava calada. Aquilo era mesmo um pesadelo. Pobre Sra. Latimer.
Dali a pouco Joan disse, no tom confortador que sua mãe usava quando ela tinha algum pesadelo:
— Foi apenas um sonho. Quando acordar, tudo estará bem outra vez.
A Sra. Latimer empertigou-se bruscamente, acelerando o carro um pouco mais.
Joan enrolou o papel laminado em torno do que restava da barra de chocolate.
— Vou guardar um pouco para papai. Ele também adora chocolate.
A Sra. Latimer olhou para o relógio de pulso, extremamente elegante, de platina e diamantes. Diminuiu a pressão no acelerador.
— Temos de nos apressar, querida. Precisamos chegar em casa o mais depressa possível, Papai já deve estar à nossa espera.
— Está certo — disse Joan, resignada. — Foi um passeio muito bom.
— E não podemos perder o circo — acrescentou a Sra. Latimer.
Joan virou a cabeça para fitá-la. Os olhos da menina se arregalaram, espantados. O medo invadiu-a.
— Quero voltar para casa, por favor — disse ela, o mais calmamente que podia.
— É para onde estamos indo. O mais depressa possível, querida. Não notou os caminhões? Passam muitos caminhões nesta estrada.
— Mas não estamos indo na direção errada?
— Não. O caminho é este mesmo. Tenho certeza de que é este o caminho para Memphis.
— Memphis? Onde fica isso, por favor, Sra. Latimer.
— Mas que menina tola! É lá que vivemos. Sabe disso muito bem, Linda.
O lábio inferior de Joan começou a tremer.
— Eu não vivo em Memphis, Sra. Latimer — suplicou ela. — Moro em Centertown, na South Paisley Street, 945.
Ela recitou o endereço que a mãe a fizera decorar, para o caso de algum dia se perder. As lágrimas começaram a escorrei por suas faces.
— Quero ir para casa! Quero minha mãe!
Ela estava agora chorando, totalmente aterrorizada.
— A mamãe está aqui, querida — disse a Sra. Latimer. — Bem ao seu lado. Não chore. Por favor, querida, não chore. Tudo vai acabar bem para nós.
— Não está nada certo! — balbuciou Joan. — Quero minha mãe. Por favor, Sra. Latimer, leve-me para casa.
— Não me chame de Sra. Latimer, Linda. Não acha que é uma maneira muito esquisita de falar com sua própria mãe?
— Você não é minha mãe! — gritou Joan, histericamente. — Não é, não é, não é!
A Sra. Latimer parou o carro. O sol estava encostando no horizonte e a estranha luz opalescente do final de tarde proporcionava ao campo deserto, pelo qual o carro vinha viajando há algum tempo, uma aparência irreal de alegria dourada, como os tons suaves de trigais em quadros antigos de paisagens.
— Não sou? — disse a Sra. Latimer, aturdida. — Não sou sua mãe?
Ela fez uma pausa, os olhos castanhos desolados.
— Está sendo muito malvada ao dizer uma coisa dessas, Linda. Claro que sou sua mãe.
— Não é, não! — soluçou Joan.
— Está cansada, querida. É esse o seu problema. Não deve ter tirado o seu cochilo esta tarde. Por que não deita e descansa um pouco agora, querida? Vai se sentir muito melhor quando acordar. Saberá então quem realmente é.
— Não, Sra. Latimer! Por favor, leve-me para casa!
— Deve descansar, Linda. Eu insisto. Lembre-se de que papai estará em casa daqui a pouco. E vai querer estar descansada para ir ao circo.
A Sra. Latimer virou-se no assento, estendendo as mãos para Joan. E muito embora Joan se afastasse dela, comprimindo-se desesperadamente contra o outro canto do assento, a expressão de amor e ternura nos olhos da Sra. Latimer não titubeou por um instante sequer.
— Minha pobre querida... — sussurrou ela. — Linda está tão cansada... Durma um pouco querida. Mamãe vai acordá-la com tempo suficiente para se aprontar para o circo.
Suas mãos seguraram a garganta de Joan. Pensava estar sendo muito gentil, mas as mãos apertavam com mais força do que ela imaginava.
— Durma, Linda — disse ela, suavemente, as cadências de um acalanto se insinuando na voz baixa. — Vá dormir, querida.
Uma sensação estranha e um tanto agradável de satisfação dominou a Sra. Latimer, como se um vaso vazio subitamente transbordasse com as emoções sublimes da maternidade... bondade, paciência, compreensão, gentileza, amor infinito. Sentia uma compaixão pura e suave espalhar-se por seu corpo, até alcançar a caverna escura em que estava seu pesadelo, a entrada da caverna seguramente bloqueada.
Ela continuou a murmurar "Vá dormir, querida", interminavelmente, embora estivesse confusa pela maneira desesperada como os braços e pernas de Joannie se debatiam, pelos olhos azuis que se arregalavam e esbugalhavam, aterrorizados, ao invés de se fecharem serenamente no sono, como deveria acontecer.
O zunido de freios distraiu de repente a Sra. Latimer. Ela tirou as mãos da garganta de Joan e olhou para trás. Uma carreta imensa aproximava-se do carro, a velocidade diminuindo ao chegar perto. O motorista evidentemente tencionava parar.
A Sra. Latimer passou o braço direito pelos ombros de Joan e puxou-a ternamente contra o seu corpo. Ignorou os soluços ofegantes e a respiração difícil da menina quase estrangulada, virando-se com uma serena cortesia para o motorista do caminhão, que parará ao seu lado. Ela viu que o motorista era jovem e trigueiro, com um cigarro pendurado no canto da boca.
— Estou no caminho certo para Centertown, madame? — perguntou ele, com um olhar curioso para a menina ofegante.
— Está, sim — respondeu a Sra. Latimer. — Siga em frente e não poderá errar.
Ela não sabia absolutamente nada a respeito da estrada ou para onde levava. O motorista assentiu.
— Obrigado. — Ele olhou novamente para Joan. — Sua filha está bem, madame? Ela não está passando mal?
— Não. Mas foi um tanto malcriada e tive de falar-lhe com severidade. — A Sra. Latimer sorriu. — E ela acabou chorando.
Ela afagou o ombro de Joan e depois olhou para o motorista, com um ar confidencial, acrescentando:
— Ela não está querendo tirar o seu cochilo. O motorista do caminhão tornou a assentir.
— As crianças pensam que sabem mais do que a gente. Meus filhos também são assim.
Ele engrenou e calcou o acelerador do imenso caminhão.
Embora Joan ainda não conseguisse respirar direito pela traquéia machucada, embora não conseguisse arrancar um único som das cordas vocais para pedir socorro ao motorista de caminhão que se afastava, a partida dele... levando junto a sua esperança... fez com que se desvencilhasse. A Sra. Latimer ainda tornou a segurá-la, mas Joan livrou-se outra vez e escorregou por cima da porta fechada do conversível, como uma enguia dominada pelo pânico. Caiu de mãos e joelhos no acostamento, mas estava de pé no momento seguinte, correndo para salvar a vida, embrenhando-se pela mata ao lado do carro.
Por um longo tempo, a Sra. Latimer foi dominada por uma lassidão enervante, a tal ponto que mal podia compreender que Linda se fora. Finalmente, com um esforço enorme, ela levantou a cabeça e olhou aturdida para o assento vazio ao seu lado.
— Linda, onde você está? — A Sra. Latimer sentia vontade de chorar. — Não pode se esconder agora, Linda! Está na hora do seu cochilo. Por favor, querida, não me faça ficar zangada com você.
Ela ficou esperando, como se aguardasse uma resposta. Depois, lentamente, saiu do carro, levando as chaves. Foi até a mala do carro e abriu-a. A tampa levantada, ela examinou a mala ansiosamente. Depois, um sorriso de alívio atenuou os lábios contraídos. E ela disse, alegremente:
— Ah, você está aí, Linda querida!
O corpo de uma menina estava na mala... uma menina que fora da mesma idade de Joan, com os mesmos cabelos dourados e olhos azuis. Uma das mãos da menina morta estava ajeitada debaixo do rosto, as pernas enrascadas, na atitude que muitas crianças assumem quando dormem.
A Sra. Latimer inclinou-se para o interior da mala e beijou a testa da menina.
— Isso mesmo, Linda — disse ela, alisando os cabelos dourados. — Vá dormir.
Depois de fechar a mala, sentar novamente ao volante e dai a partida no carro, a Sra. Latimer sentiu-se melhor. O monstro estava seguramente preso em sua caverna. Ela pôs-se a contarolar baixinho. O crepúsculo baixava sobre a paisagem. Era o seu momento predileto do dia.
A viagem fora um imenso círculo, pois ela percebeu, depois de algum tempo, que estava de volta ao centro de Centertown. Virou o De Soto cinzento para o sul. Na saída da cidade, passou pela escola em que encontrara Joan.
Notou que havia agora por ali uma intensa atividade. Ao crepúsculo, podia ver muitos carros estacionados. Alguns tinham a palavra "Polícia" escrita no lado. E uma porção de homens, homens de rostos sombrios e determinados — seriam pais? — estavam reunidos em torno de um homem grandalhão, num uniforme de polícia, que parecia estar lhes dando instruções.
— Oh, Deus, que coisa terrível! — pensou a Sra. Latimer, em voz alta. — Um grupo de busca está sendo organizado. A filha de alguém está perdida.
Ela passou devagar, cuidadosamente, sentindo uma felicidade intensa dominá-la.
E pensava, exultante: Não é a minha filha que está perdida! Graças a Deus, não perdi Linda!
O CRIME ESTÁ NO SANGUE - Glenn Andrews
Desde o tempo de sua fundação, o Colégio Feminino Leeds foi exclusivo, elegante e dedicado aos métodos progressistas de educação. Em 1894, o nome foi oficialmente mudado para Leeds apenas. Atualmente, como acontece com as alunas de Bennington, Vassar e Sarah Lawrence, as moças que cursam o Leeds têm a garantia de status, além de educação. Assim, não é de surpreender que o corpo discente de Leeds, num total de 1.326 alunas, incluísse moças de famílias que se orgulhavam de sua riqueza, posição e genealogia. Contudo, em sua turma de 64, houve também uma moça emocionalmente confusa, mas muito bonita, cujo pai fora julgado e condenado por homicídio, no Condado de Los Angeles, no verão de 1949.
Uma segunda tragédia para Ann Griffith começou — se é que se pode realmente determinar a gênese dos acontecimentos fatídicos da vida de uma pessoa — a 14 de setembro de 1960, o primeiro dia de matrícula, no ginásio principal de Leeds.
Mesas pequenas, bastante espaçadas, formavam um oval pela quadra do ginásio. Ali estavam sentadas representantes dos 172 professores, prontos para aconselhar e orientar os novos estudantes. Ann Griffith estava parada, hesitante, além da periferia das mesas. Foi ali que Carol Lynn Lauscher, herdeira dos milhões dos Lauscher em cervejas, refrigerantes, baby dolls, revistas sensacionalistas e cavalos de corridas, falou-lhe pela primeira vez.
Carol Lynn, alta demais para uma moça, com um rosto que os rapazes adolescentes sádicos invariavelmente descreviam como de cavalo, compensava essas deficiências e a riqueza da família com uma personalidade forte e impetuosa. Ao ver Ann Griffith, Carol Lynn notou imediatamente a sua beleza, da espécie etérea, pálida, de olhos escuros. Notou também que ela não era alta, situando-se na altura invejável em torno de 1,60m.
— Oi! — disse Carol Lynn, batendo com o catálogo de cursos na palma da mão, ao aproximar-se de Ann. — Você parece perdida. Deve ser nova aqui. Eu também sou.
Tudo o que Ann fez foi sorrir... hesitantemente. Ela ouvira o tio e a tia — separadamente e em ocasiões irritantemente numerosas — comentarem pesarosos que era tímida demais para fazer amizades. Mas era mais do que isso agora. Ann estava apavorada. Desejava estar de volta à casa dos tios, desejava jamais ter-lhes permitido e ao psicólogo importado de Boston que decidissem que seria melhor para ela afastar-se finalmente da "proteção onipresente" deles. Houvera a preocupação crônica na escola secundária de que as colegas pudessem descobrir o que acontecera com seu pai. Mas agora, intimidada com a tradição e prestígio de Leeds, essa preocupação se tornava ainda mais profunda e angustiante. Mas Ann era pateticamente vulnerável às pessoas.
Assim, antes que se desse conta, Ann descobriu que Carol Lynn já acertara que seriam colegas de quarto, no terceiro andar, de frente, em Randolph Hall. E descobriu-se também inscrita em arco-e-flecha em Educação Física, embora lhe passasse pela cabeça que arcos e flechas eram armas, mesmo que seu pai tivesse usado um revólver.
Por mais apreensiva que estivesse no início, no entanto, Ann sentiu-se mais segura pelo fato de haver sido aceita por Carol Lynn. Na verdade, as duas formavam uma boa dupla, pois Ann, comportando-se como uma dócil seguidora, ajudava Carol Lynn subconscientemente a garantir a si mesma que a personalidade — justamente o que possuía — era superior à beleza.
Carol Lynn persuadiu Ann a mudar o penteado, que eram cortados bem curtos, passando para um estilo mais bouffant, como estava em moda. E Carol Lynn tomou conta do quarto, atulhando-o com seus pertences e artefatos, entre os quais se destacava o "escalpo" de um rapaz que conhecera em Cannes, quando estava cursando uma escola preparatória suíça. Cobriu uma parede com um pôster que dizia tudo o que Madison Avenue desejava, embora não fosse usada uma única palavra. Era simplesmente uma ampliação de uma lata congelada de cerveja Lauscher. O lado do quarto em que Ann se instalou permaneceu monasticamente vazio. E o mais importante de tudo, Carol Lynn combinou uma saída com dois rapazes que elas não conheciam para o sábado da primeira semana. Os rapazes estudavam em Dartmouth e o encontro era um tremendo erro. Mas Carol Lynn não tinha a menor possibilidade de adivinhar.
O encontro seguiu o caminho catastrófico habitual dos compromissos marcados sem que os parceiros se conheçam. Cliff Farnsworth II, que deveria fazer par com Carol Lynn, era moreno e bonito, mas não era alto... ou pelo menos não alto o bastante para ela. Assim, Cliff trocou-a por Ann, com a maior naturalidade. Infelizmente para Carol Lynn, o outro rapaz, Mike Petruski, podia ter altura suficiente e ser o autor de proezas atléticas, mas carecia de profundidade mental. Assim, ele ficou sentado como um palerma, um espécie excepcional de palerma, sem dizer uma só palavra.
Haviam ido para uma taverna à beira da estrada freqüentada por estudantes. Estava apinhada e barulhenta. Era praticamente impossível dançar. Tinha-se de segurar o copo com uma das mãos e proteger com a outra, a fim de que não fosse derramado num esbarrão.
O primeiro sentimento de terror de Ann ocorreu logo depois que Cliff pegou-lhe a mão e saiu puxando-a pela taverna apinhada. Lá fora, em contraste, o ar parecia maravilhosamente frio e fresco.
Ann estava angustiosamente consciente de que Cliff continuava a segurar-lhe a mão. Um reflexo de um cartaz luminoso projetava uma claridade rosa sobre o rosto dele.
— Finalmente saíamos de lá e podemos ouvir os próprios pensamentos — comentou Cliff. — Que alívio!
E foi então que aconteceu.
— Não a conheço de algum lugar, Ann? — perguntou Cliff. — Pareceu-me familiar no instante em que a vi, mas não pode...
Ann sacudiu a cabeça.
E depois Cliff disse que era da Califórnia. A primeira reação de Ann foi retirar a mão bruscamente e sair correndo, embora tivesse apenas sete anos quando o assassinato ocorrera e deixara a Califórnia imediatamente depois.
O segundo momento de terror ocorreu quando os rapazes conscienciosamente levaram as moças ao dormitório. Mike foi embora, depois de murmurar algumas palavras ininteligíveis, que deviam servir tanto de boa-noite como adeus. Carol Lynn subiu a escada para o quarto das duas, no terceiro andar.
A entrada em que Ann e Cliff estavam parados se encontrava praticamente às escuras, a única iluminação provindo de uma lâmpada acesa no vestíbulo mais além. Embora Cliff se julgasse um homem experiente, aos 19 anos, havia o constrangimento que sempre precedia beijar uma determinada moça pela primeira vez. Mas a avaliação exagerada que ele fazia de seu jeito com as mulheres impunha-lhe dar um beijo de boa noite em Ann.
— Foi uma noite maravilhosa, Ann.
— Também gostei, Cliff.
O silêncio constrangido ressurgiu.
— Voltaremos a nos encontrar amanhã. Ann. E não aceitarei um não como resposta. Só terei de voltar à escola no final da tarde. Não tivemos a oportunidade de conversar. E quero conhecê-la melhor...
Cliff continuou nessa linha, que julgava infalível. Mas ele despertara os pensamentos de Ann com as palavras "quero conhecê-la melhor". Eram pensamentos alarmados e aterrorizados. O medo antigo instintivo de que os amigos pudessem descobrir sobre seu pai.
— ... apenas um beijinho inocente de boa noite — concluiu Cliff.
Ann descobriu subitamente que Cliff passara o braço por sua cintura e tentava beijá-la. Ela recuou, mas Cliff não era de desistir facilmente. E depois, porque ela era uma criança confusa, foi ao outro extremo e reagiu ao avanço de Cliff com uma ansiedade que o surpreendeu e assustou, deixando-o completamente aturdido.
Ann não se lembrou depois de ter subido os três lances de escada. Não ouviu o que Carol Lynn disse quando entrou no quarto. Ao voltar à terra, Ann descobriu-se sentada na beira da cama, o quarto tão escuro quanto a entrada lá embaixo. O abajur de Carol Lynn estava aceso e ela estava sentada de pernas cruzadas no meio da cama, escovando os cabelos.
Ann recordou vagamente que Carol Lynn lhe falara como o encontro fora desagradável para ela. E estava agora discorrendo sobre as oportunidades no baile de outono próximo, a que compareceriam homens de todos os tipos, tamanhos e talentos.
— Carol Lynn... — disse Ann, hesitante.
— Ah, então você pode falar! — Carol Lynn não parou de escovar os cabelos. — Ficou horrivelmente quieta. Como uma garota apaixonada. Puxa, aquele tal de Cliff é o tipo de rapaz que ama acima de tudo a sua aparência e meio de vida.
Ann pensou: "Não quero contar a ela. Não, não quero realmente. Mas vou contar, a ela e a todo mundo, liquidar minhas chances aqui. Ser expulsa de Leeds. Para dar uma lição naquele psicólogo metido a besta de Boston. Para mostrar a meus tios tão solícitos. Oh, Deus, se ao menos eu pudesse ir a algum lugar e morrer!"
Ann levantou-se e contou a Carol Lynn sobre seu pai. Contou tudo, rapidamente... o assassinato, a confissão, o julgamento e a morte na prisão.
E Carol Lynn escutou tudo, parando de escovar os cabelos apenas duas vezes. Não ficou horrorizada, como Ann esperava que aconteceria, pois Carol Lynn já passara pelas melhores escolas e aprendera que não devia nunca ser séria demais, que era sempre melhor se mostrar irreverente, jamais ficando desnecessariamente impressionada.
— Meu pai foi investigado... pelo Congresso — disse Carol Lynn. — Por que então está tão preocupada com isso?
— Mas não é a mesma coisa!
— Houve uma tremenda repercussão. Era uma investigação antitruste ou algo assim. Papai tem uma porção de subsidiárias. Ele tinha apenas a fábrica de cerveja, mais nada. Depois, por causa dos impostos ou qualquer coisa assim, foi se metendo em outras coisas. Provavelmente é tudo ilegal, mas papai sempre foi muito esperto. Somos todos patifes. Somos todos assassinos em potencial.
— Mas meu pai matou um homem...
— Há todos os tipos...
— ... o que me transforma numa assassina em potencial mais do que você. Por causa da hereditariedade. Os genes determinam mais do que uma pessoa ter olhos castanhos ou azuis... Estudei tudo isso.
— Está bem, seu pai deu um tiro em alguém. — O tom de Carol Lynn indicava que ela estava sendo agora bastante objetiva em relação ao assunto. — Mas pelo menos ele matou porque amava uma mulher. Acontece que há muitos tipos de homicídio. O que me diz do homem que possui um cortiço em que crianças morrem por causa de condições de vida perniciosas? Não é também um assassino?
— Acha que todo mundo em Leeds assumiria a sua atitude em relação ao... ao...
— Provavelmente não. — Carol Lynn deu de ombros. — Afinal, há gente de toda espécie.
— O problema é justamente esse. E vivo apavorada de que essa espécie de gente descubra. Mas acho que devo contar a Cliff.
— Por quê?
— Vou vê-lo amanhã e...
— Essa não! Não me diga que caiu na encenação dele! Mas como você é uma garotinha inexperiente, Ann! Precisa de alguém para cuidar de você. Há um lobo naquele Cliff, naquele homem de Dartmouth, dissimulado, bonito e vaidoso!
— Acha que não devo encontrar-me com ele?
— A decisão é sua, menina. Mas eu não o levaria muito a sério. Pensaria sempre no tipo de homem que ele é.
Ann não dormiu. Ficou deitada de costas, olhando para a escuridão da noite, pensando. Chegou a uma conclusão: Carol Lynn estava magoada com Cliff, um tanto despeitada, porque ele estava marcado para ser o seu par na noite e depois mudara de idéia. E por isso o classificara de lobo. No fundo, estava com inveja e não queria que ela ficasse com Cliff. Chegara mesmo a não dar aparentemente qualquer importância ao fato de que o pai de Ann era um assassino, procurando dar a impressão de que seu próprio pai era tão ruim, se não mesmo pior. Provavelmente queria que Ann contasse a Cliff tudo sobre seu pai e o assassinato, a fim de que perdesse Cliff. Mas se não contasse a Cliff, poderia algum dia contar a outro homem?
Ao pensar em Cliff a beijá-la e dizer que queria vê-la no dia seguinte, Ann teve a impressão de que ele estava apaixonado e perguntou-se se ela própria estaria apaixonada.
E depois, à maneira mais óbvia, sua fantasia mostrou-a casada com Cliff: estava servindo-o numa mesa impecavelmente posta; sentavam-se lado a lado diante de uma lareira acesa, de mãos dadas. Mas também mostrou-lhe o que poderia acontecer se contasse a Cliff a respeito de seu pai. Viu-o a sacudir a cabeça, com uma expressão angustiada, afastando-se, deixando-a para sempre.
E depois as imagens da fantasia se desvaneceram e ela pensou: "Não contarei a Cliff... ainda não." Como acontecia freqüentemente, Ann pensou em suicídio... pois se alguma coisa saísse errada, sempre teria esse último recurso. Ocorreu-lhe que, se contasse a Carol Lynn na ocasião, poderiam efetuar-lhe uma lavagem estomacal depois que tomasse as pílulas para dormir. Nesse caso, era possível que Carol Lynn admitisse que não era uma assassina em potencial tanto quanto Ann. Pois Karen Horney ou alguma outra pessoa dissera que o suicídio era simplesmente o assassinato voltado contra o próprio indivíduo.
E depois ela pensou no discurso de boas-vindas da diretora Mattison, afirmando que a principal missão de Leeds era ajudar cada aluna a descobrir sua própria identidade, sua verdadeira individualidade. Era algo que sempre perturbara Ann, quase tanto quanto ser descoberta.
E, finalmente, os pensamentos de Ann fundiram-se com o sono.
Ann mal conseguiu chegar a tempo para o café da manhã, no dia seguinte. Mais um ou dois minutos e o refeitório estaria fechado. Como era um lindo dia de outono, ela ficou passeando a esmo pelos gramados do campus, até que lhe ocorreu o pensamento terrível de que poderia estar ausente quando Cliff fosse procurá-la.
O telefone ficava ao lado do salão de descanso do dormitório. Ann sentou-se num sofá na parede em frente à entrada, folheando distraidamente o Times no domingo. Não viu uma pequena notícia, que era de importância vital para ela.
Vinha de Pasadena e dizia:
Clara Francis Stanton, uma das principais personagens num sensacional julgamento de homicídio nos anos 40, foi submetido a uma intervenção cirúrgica de extrema gravidade, no Hospital Cedros do Líbano....
No salão, estavam apenas Ann e uma outra moça, tocando trechos de Chopin no piano.
Ann cansou de olhar o Times sem ler. Levantou-se e foi até ao quadro ao lado do telefone, com alguma esperança de que Cliff pudesse ter telefonado durante o breve intervalo de seu passeio depois do café da manhã. Como já imaginava, não havia qualquer recado para ela no quadro.
Ann voltou ao salão para esperar mais um pouco, encaminhou-se para o sofá na parede do outro lado. No caminho, teve a impressão desagradável de que a moça ao piano percebera que ela aguardava um telefonema e sabia que era de um homem, sabia que esse homem estava deixando-a esperar.
"Estou imaginando coisas", pensou Ann. "Estou ficando paranóica."
Mas não conseguiu mais permanecer no salão e subiu para o seu quarto.
O quarto estava vazio, silencioso e solitário, a cama de Carol Lynn desarrumada. Carol Lynn já havia saído quando Ann acordara e descera correndo para tomar café.
"Ainda é cedo... para um domingo", pensou Ann. "Cliff provavelmente ainda está dormindo."
Mas ela pensou imediatamente que já estava acordada, assim como Carol Lynn; se Cliff estava mesmo ansioso em tornar a vê-la, teria se levantado especialmente cedo.
Ann sentou-se à mesa, abriu De Beowulf a Thomas Hardy. Mas não conseguiu concentrar-se na lição que precisava estudar de Literatura Inglesa.
Carol Lynn apareceu por volta de meio-dia, pegou um caderno de folhas soltas. Antes de sair correndo novamente, parou na porta pelo tempo suficiente para dizer, ofegante:
— Pensei que ia se encontrar com aquele garoto-maravilha.
Antes que Ann pudesse responder, sua companheira de quarto já havia desaparecido. E a partida dela trouxe de volta a terrível solidão do quarto. Ann desejou estar morta. Tinha certeza de que era diferente de todas as outras moças... e muito mais infeliz.
Ann não desceu para o almoço. Ficou deitada na cama, olhando para o teto. Em determinado momento, uma voz gritou, pelas janelas do dormitório:
— Bea Schrader! Telefone! É um homem!
Houve risadas abafadas distantes e uma voz respondeu:
— Já estou indo!
Ann levantou-se, foi à janela, contemplou o campus. Sua atenção fixou-se numa loura bonita, num kilt verde e vermelho, meias que combinavam, subindo até os joelhos. Porque queria acreditar nisso, teve certeza de que aquela moça não tinha problemas, que se sentia maravilhosamente segura, encontrara a sua verdadeira identidade. Pensando nisso, os olhos de Ann ficaram marejados de lágrimas de autocompaixão. E parada ali, sentindo-se assim, não pôde deixar de lembrar-se do tempo em que sentia a compulsão de pular de janelas altas. Esforçou-se em recordar o nome do médico de Syracuse que a ajudara a superar esse problema, mas não conseguiu.
Quando ainda estava tentando recordar foi que avistou Cliff, andando de braços dados com uma moça, os dois chutando alegremente as folhas caídas do outono. As lágrimas obscureciam-lhe a visão. Para ter certeza de que era mesmo Cliff quem estava com a moça, ela apressadamente removeu as lágrimas com a mão.
Viu que Cliff e a moça estavam se afastando pelo lado aberto do campus. Riam e conversavam, de braços dados, os rostos muito chegados, numa cena idílica.
— Oh! — exclamou Ann, fechando e abrindo as mãos. — Eu poderia matá-lo! Eu poderia matá-lo!
E depois ela afastou-se da janela, inclinou-se para a frente, como se sentisse uma dor angustiante, comprimindo as mãos contra o alto da cabeça. Ficou dizendo a si mesma que Carol Lynn estava certa em relação a Cliff. Ela o odiava, odiava...
Jogou-se na cama, o rosto virado para baixo, sentindo-se profundamente magoada, insuportavelmente humilhada. O beijo de Cliff não significara coisa alguma. Ele provavelmente esquecera por completo que prometera encontrá-la no domingo. E ela ficara ali, esperando, esperando...
Quando finalmente se levantou e molhou o rosto com água fria, Ann pensou — com mais autocompaixão — que agora podia sair. Não tinha ninguém para esperar.
— Ann Griffith. telefone! — gritou alguém lá debaixo, do lado de fora. — Telefone! Telefone para Ann... Ann Griffith!
Ann foi à janela e gritou para a moça que olhava para as janelas do dormitório:
— Já estou descendo!
Antes, quando ficara esperando pelo telefonema de Cliff, teria descido a escada correndo. Agora, porém, desceu bem devagar, deliberadamente. Tinha certeza de que era seu tio quem estava lhe telefonando. Iria dizer-lhe como se sentia infeliz. Se não viesse imediatamente para levá-la de Leeds, ela iria fugir... ou pularia da janela e se mataria.
Mas era Cliff quem estava ao telefone. Surpresa, confusa, Ann teve dificuldade em se concentrar. E era Cliff o único que falava:
— Por favor, meu bem, desculpe-me. A ligação é interurbana. Tive de voltar correndo à escola esta semana. Assim, não pude procurá-la. E também não tive antes a oportunidade de telefonar. Mas podemos nos encontrar no próximo fim de semana? O que me diz, meu bem?
"Ele é um mentiroso", pensou Ann. "Não pode ainda estar de volta à escola. Além do mais, eu o vi esta manhã com aquela moça."
— Não quer me deixar compensar por tê-la deixado esperando? — insistiu Cliff. — E então? Qual é a sua resposta?
— Está certo.
Ao mesmo tempo, Ann pensou: "Isso me dará uma oportunidade de magoá-lo da maneira como ele me magoou."
— O que me diz do próximo sábado, Ann?
— Está certo. O próximo sábado será ótimo.
— Você é maravilhosa. É por isso que me sinto tão atraído por você.
— Você me ama, não é mesmo?
Houve uma pausa. Cliff se mostrara antes tão loquaz que a pequena pausa se destacou. E ele finalmente disse:
— Claro que amo.
— Então voltaremos a nos falar no próximo sábado.
Ao desligar, Ann tinha a sensação de que seu sangue estava fervendo.
Ann deixou o dormitório e andou e andou. Enquanto andava, ficou planejando como poderia se vingar. Sentia agora que dar um bolo em Cliff, a mesma coisa que ele lhe fizera, não seria suficiente. Não a deixaria satisfeita. Lembrou-se então do que dissera em voz alta quando olhava pela janela do quarto e o vira de braços dados com aquela moça. "Eu poderia matá-lo", fora o que dissera. O fato de haver dito isso, automaticamente, num reflexo, impressionou-a como significativo. Era o que realmente queria fazer... matá-lo. E depois disse a si mesma que realmente não tinha opção, porque era uma assassina. Era essa a sua verdadeira identidade. Indubitavelmente, herdara o desejo de matar do pai.
Ann sabia onde os rapazes ficavam quando iam a Leeds: nas velhas casas da Whittaker Street, perto do campus. Iria direto a Cliff, da forma como o pai fizera com o homem que matara, e lhe daria um tiro.
Teria de arrumar um revólver. Queria o mesmo tipo de arma assassina que o pai usara. Era quase, pensou Ann, tristemente, como se houvesse um gene que transmitia uma predileção na questão de armas assassinas.
Talvez fosse o pensamento de armas assassinas que a levou ao vestiário do ginásio, onde pegou o seu novo arco e a aljava com flechas. Depois de um dia inteire de inatividade, era algo para fazer. E disparar uma flecha se relacionava com disparar uma arma, o que se tornava uma coisa desejável naquele momento.
A área para a prática de arco-e-flecha ficava numa campina além do ginásio. Embora ficasse paralela às quadras de tênis, mantinha alguma distância delas. Fardos de palha formavam um muro protetor alto por trás dos alvos, como medida de segurança.
Ann estava disparando flechas há cerca de meia hora, automaticamente, desanimadamente, quando decidiu retornar ao quarto. Queria olhar para a fotografia do pai que mantinha escondida, virada para baixo, sob algumas blusas, na gaveta da cômoda. Havia uma semelhança acentuada entre Ann e o pai, especialmente em torno dos olhos. Depois de rejeitar o pai por todos aqueles anos, ansiava em se reencontrar com ele, ter um pai finalmente, como todas as outras moças. E queria também uma garantia adicional de que a semelhança com o pai fazia com que tivesse herdado também as características que o transformaram num assassino. Decidiu que também faltaria ao jantar domingo. E depois de contemplar o retrato do pai, iria direto para a cama. Diria a Carol Lynn que não estava passando bem.
O crepúsculo espalhava-se pelo campus. O sol poente projetava uma margem alaranjada no horizonte, ressaltando as cores espetaculares das folhas de outono. Até mesmo essa beleza magoava Ann, por contrastar com a feiúra do que Cliff lhe fizera.
E de repente, como se tivesse sido apanhado pela mão e levado até ali pelo Destino, lá estava Cliff, aproximando-se dela.
— Ann! — exclamou ele, como se o fato de encontrá-la assim fosse a mais agradável das surpresas.
Ann não disse nada, sentindo apenas um torpor frio.
— É um tanto constrangedor, não é mesmo? Ann não respondeu. Cliff soltou uma risada.
— Pode estar certa de que eu teria me desviado, se a tivesse visto antes. Confesso que o faria.
Ele ficou esperando que Ann dissesse alguma coisa. Mas quando compreendeu que ela não o faria, Cliff perguntou, com uma exibição de irritação:
— O que você quer? Uma explicação? Ou devemos esquecer a coisa toda e começar de novo, desde o início?
— Essa explicação seria uma mentira — disse Ann, subitamente tão furiosa que estava tremendo. — Outra mentira.
— Ora, meu bem, não vamos fazer uma tempestade em copo d'água.
— Não vai querer me ver no próximo sábado — Ann ouviu-se dizendo.
— Claro que vou.
— Eu não sabia se devia ou não contar-lhe uma coisa muito pessoal — disse Ann, falando muito depressa. — Mas agora vou contar. Meu pai foi um assassino. Um assassino. Ainda vai querer se encontrar comigo? Pode ser perigoso. Se me der o bolo outra vez, eu poderia...
— Deixe de bobagem.
Cliff tentou enlaçá-la, dar um jeito de esquecer o que passara. Conseguiu roçar o rosto de Ann com os lábios, mas ela recuou prontamente, como se sentisse a maior repulsa. Cliff ficou irritado.
— Está certo. Pode ficar furiosa. Quem diabo se importa com isso?
Cliff estava se afastando. Naquele momento, Ann odiava-o com uma intensidade irresistível. Queria matá-lo. E esse desejo misturou-se instantaneamente com a racionalização de que tinha de matá-lo, porque a compulsão de matar estava em seu sangue e não podia ser controlada.
Cliff ainda estava se afastando. Dali a pouco ele iria se fundir com o crepúsculo e desaparecer. Foi só quando ouviu o zunido da corda do arco que Ann voltou à realidade. Cliff não estava mais se afastando. Estava caído no chão, de lado, enrascado. A haste de uma flecha saía de suas costas.
Ann sentiu-se consciente de estar correndo, depois de ver Carol Lynn e seu tio encaminhando-se em sua direção. Em seus sonhos, invariavelmente corria e pessoas que nunca esperava estavam sempre aparecendo. Portanto, aquilo era um sonho.
Ao começar a correr, Ann encaminhara-se para o Randolph Hall... a fim de confessar à supervisora do dormitório o que fizera. Agora, em estado de choque, sabia apenas que havia alguma coisa importante que precisava fazer, mas não podia se lembrar do que era.
Era uma sensação agradável sentir os braços do tio a enlaçá-la. Mas quando ele lhe disse que tinha uma notícia maravilhosa... que Clara Francis Stanton fizera uma confissão pouco antes de morrer que inocentava o pai de Ann, que ele assumira toda a culpa por essa mulher porque a amava e porque era um homem honrado e bom, não um assassino... Ann não conseguiu absolutamente entender.
TENTATIVA DE REGENERAÇÃO - Donald Martin
Como sempre, a Sra. Grady lia o jornal enquanto tomava o café da manhã. E também como sempre, pulou o noticiário nacional e internacional — que se tornara muito vasto e complexo para que compreendesse — e foi ler as notícias locais, nas páginas internas. Com mórbida fascinação, encontrou as histórias de crime. As agressões eram cada vez mais numerosas e violentas. Ela estremeceu e se encolheu interiormente, enquanto tomava café e lia os detalhes terríveis do último assalto ou assassinato brutal.
— É como Oliver sempre disse — comentou a Sra. Grady, em voz alta.
Oliver era o seu falecido marido, morto há 20 anos, mas ainda verbalmente mencionado pela viúva, pois fizera muitos pronunciamentos memoráveis. Oliver dissera certa ocasião e a Sra. Grady estava se recordando agora:
— A verdade, Myrt, é que ao invés da civilização avançar, é o oposto que acontece. O próprio fato das pessoas continuarem a ser bestas sem coração, apesar de todo o progresso científico e intelectual, indica que estão regredindo.
Oliver fora motorneiro de metrô e mantinha um contato diário com milhares de pessoas. Assim, sua observação tinha algum peso. Segundo Oliver, as pessoas estavam se tornando menos pacientes e menos compreensivas, mais insensíveis e egoístas. Podia comprovar as suas teorias sombrias com histórias dos incidentes que presenciava diariamente. Talvez Oliver fosse sensível demais para um homem em seu cargo, mas as histórias que contava sobre a brutalidade irracional da humanidade sempre faziam Myrt estremecer. E continuavam a fazê-la estremecer até hoje, ao ler as notícias do jornal que confirmavam as palavras de seu falecido marido.
Terminando de tomar o café e dobrando o jornal (sempre tomava a precaução de deixar a metade para ler com o almoço), a Sra. Grady preparou-se para descer, a fim de cuidar das compras matutinas. Pôs o chapéu e o casaco e saiu. Ao descer a escada para o saguão, percebeu que alguém estava inclinado sobre as caixas de correspondência. Era um rapaz. Estava concentrando no que fazia. Os dedos estavam tentando penetrar num dos pequenos compartimentos da parede.
A Sra. Grady ficou paralisada nos degraus, observando o rapaz. Gostaria de se tornar invisível, pois gostaria muito de continuar a observar. Os dedos do rapaz estavam se afastando da caixa quando ele olhou ao redor e deparou com a espectadora fascinada. A Sra. Grady estremeceu, experimentando um momentâneo sentimento de culpa. O rapaz deu um pulo para trás, lançou um olhar acusador para a Sra. Grady e depois virou-se para fugir. Havia um carrinho de bebê parado perto da porta. A fuga frenética não lhe permitiu percebê-lo, pois estava correndo com a cabeça meio virada. Esbarrou no obstáculo e caiu com um grito, enquanto o carrinho balançava e guinchava em suas molas, como se lhe tivessem feito cócegas. O rapaz virou-se no chão, fez um esforço para se levantar, depois tornou a arriar, com um ofego.
Primeiro o alarme e depois o medo dominaram a Sra. Grady. Sentia agora uma certa compaixão cautelosa, enquanto olhava fixamente para o rapaz prostrado. Não sabia o que deveria fazer. Quando o carrinho de bebê parou de balançar, ela recomeçou a descer a escada, lentamente, uma das mãos no corrimão, os olhos fixados no rapaz.
Deu uma olhada ao passar pela caixa de correspondência. Divisou o envelope pardo familiar, com a janelinha em celofane, que continha o seu cheque mensal. Então era aquilo que o rapaz estava querendo. Ela contemplou-o, saboreando a superioridade de uma pessoa de pé a olhar para outra caída.
— Está machucado? — perguntou a Sra. Grady.
Ele soltou um grunhido, não apenas de dor, mas também porque era uma pergunta absurda.
— O que está machucado? Sua perna?
Ele assentiu, fazendo uma careta. Conseguiu ficar sentado, apoiando-se nas mãos. Olhou para o tornozelo dolorido. O rosto revelava considerável aflição. Enquanto o rapaz olhava para o pé, a Sra. Grady examinou-o. Ele não devia ter mais do que 20 anos. Os cabelos pretos compridos não eram cortados há bastante tempo. O casaco preto de couro tinha fivelas prateadas. Estava entreaberto, sobre a camisa de malha. A jeans azul era bem justa nas coxas. O rosto dele mudou, refletindo uma intensa indignação, voltada contra si mesmo. Levantou os olhos para a Sra. Grady.
— Foi muita tolice da sua parte — disse ela. — Devia ser mais cuidadoso. Podia ter se machucado gravemente.
— Muito bem, dona, aqui estou.
A voz dele estava impregnada de resignação por sua amarga derrota.
— Não pode se mexer?
— Não, não posso. Se pudesse...
A Sra. Grady mordeu de leve o lábio inferior.
— Ê seu tornozelo, não é mesmo?
— Isso mesmo.
Os dois ficaram se olhando. O rapaz parecia esperar alguma coisa que pudesse responder. O rosto indicava uma expectativa hostil.
— Provavelmente torceu o tornozelo — disse a Sra. Grady. — Mas não podemos deixá-lo caído aí.
Ela estendeu-lhe a mão, acrescentando:
— Deixe-me ajudá-lo a se levantar. E tome cuidado.
O rapaz estendeu a mão e segurou a dela. Apoiando o peso do corpo desajeitadamente no tornozelo bom, ele conseguiu ficar de pé, encostando uma das mãos na parede, a fim de manter o equilíbrio.
— Ah, vocês, os jovens! — A Sra. Grady sacudiu a cabeça com uma expressão pesarosa, a voz suave, impregnada de um triste pessimismo, que insinuava os mais terríveis presságios. — Não consigo imaginar o que está acontecendo com vocês.
Ela ajudou o rapaz a subir a escada. Foi uma jornada angustiante. Finalmente chegaram lá em cima e o rapaz encostou-se na parede. A Sra. Grady abriu a porta e o rapaz entrou no apartamento, claudicando, usando com extremo cuidado o tornozelo contundido. Ela conduziu-o a uma poltrona, onde o rapaz se acomodou com um suspiro. Ficou observando sua anfitriã preocupada a ajeitar um apoio sob o seu pé, que latejava horrivelmente.
A Sra. Grady tirou o casaco.
— Vamos dar uma olhada agora nesse tornozelo.
Ela ajoelhou-se e desamarrou a botina que subia até o tornozelo, tirando-a com todo cuidado. Depois, tirou também a meia e olhou atentamente para o tornozelo. Deixou escapar um suspiro solene e anunciou:
— Está bastante inchado. Precisará deixá-lo de molho.
— Escute, dona...
Mas o rapaz não pôde continuar, pois a Sra. Grady disse, incisivamente:
— Você é que vai escutar, meu jovem. Está com uma contusão dolorosa e que não lhe permite andar. Vou cuidar disso. Não precisa se preocupar. Sei o que fazer. Ficará com o tornozelo de molho por algum tempo e depois o enfaixarei. Não vai demorar muito a poder andar direito novamente.
— E depois o quê? Vai me entregar? A Sra. Grady levantou-se.
— Entregá-lo à polícia? — disse ela hesitante.
Ela ainda não pensara nisso. Estava no fundo de sua mente, uma tentação provocante. Relutava, no entanto, em conceder-lhe reconhecimento. E acrescentou:
— Falaremos sobre isso mais tarde. Primeiro, temos de cuidar de sua contusão. Isso é o mais importante.
E ela foi para a cozinha, cantarolando. O rosto do rapaz registrava perplexidade e desconfiança. Dava a impressão de que se confrontava com algo de que já ouvira falar, mas do qual sempre duvidara.
Ficou observando a Sra. Grady esquentar chaleiras de água na cozinha. Em seguida, ela despejou a água numa bacia, acrescentando uma caixa de sais de Epsom, que produziram um zunido em contato com a água. A Sra. Grady pegou a bacia e foi colocá-la diante do rapaz. Ele tirou o pé do apoio e estendeu-o cautelosamente na direção da mistura, para retirá-lo bruscamente no instante seguinte, resmungando:
— Está quente demais.
— Ora, um rapaz crescido como você não pode ter medo de água quente — disse a Sra. Grady, em tom de censura. — É justamente o que está precisando. Vamos, ponha o pé aí dentro.
Com uma careta, o rapaz obedeceu. A Sra. Grady perguntou:
— Qual é o seu nome?
— Tobin — respondeu o rapaz, mal-humorado.
— O que estava fazendo lá embaixo, na minha caixa de correspondência, Mr. Tobin?
— Era perfeitamente óbvio o que eu estava fazendo.
— Tentando roubar meu cheque. Não era uma atitude das mais corretas.
— Não devia deixá-lo lá daquele jeito.
— Eu estava descendo para pegá-lo. Deixe-me ajudá-lo a tirar o casaco.
A Sra. Grady levantou-se da poltrona em frente em que se sentara. O rapaz inclinou-se para a frente, contorcendo-se para tirar os braços e os ombros do blusão de couro. A Sra. Grady pegou-o. Quando ia pendurá-lo atrás da porta, sentiu que havia alguma coisa no bolso. Enfiando a mão, encontrou uma faca de mola.
— Oh, Deus!
A Sra. Grady apertou o botão e a lâmina saltou, com um estalido agressivo. Ela estremeceu, como se estivesse segurando uma cobra, e acrescentou:
— Que coisa horrível!
— Preciso disso — murmurou Tobin, embaraçado. — Para proteção.
— Proteção? Contra o quê? Tobin deu de ombros.
— É esse o problema com os jovens de hoje — comentou a Sra. Grady. — Facas de mola, turmas, violência, brutalidade. Não consigo entender o que se passa dentro das cabeças de vocês. Não era assim na minha juventude. Tínhamos os nossos crimes, é verdade, mas jamais eram tão brutais quanto atualmente. Os ladrões jamais carregavam coisas assim.
A Sra. Grady tornou a brandir a faca. Incapaz de fechá-la, tratou de largá-la. Tobin tornou a dar de ombros. Não estava impressionado. Para ele, a Sra. Grady estava simplesmente descrevendo o progresso, manifestando-se contra. O que parecia apropriado.
— Eu costumava trabalhar para os Hascombs — disse a Sra. Grady. — Sabe quem são os Hascombs?
— Não.
— Pois saiba que estão entre as pessoas mais ricas do mundo. É isso o que eles são. Possuem uma propriedade em Long Island que é grande o bastante para conter um campo de pólo. Nos seus últimos anos, Mr. Hascomb funcionou como juiz. Costumava falar dos jovens que eram levados à sua presença... jovens como você, meu rapaz. Ele sentia-se chocado pela natureza brutal dos crimes cometidos por esses jovens. Mas dizia que muito pior era o fato de não encontrar o menor vestígio de remorso ou alguma indicação de que esses jovens desejavam aprender uma maneira melhor de viver. Era simplesmente terrível. Posso perguntar-lhe por que, hoje em dia, oito ou dez rapazes se reúnem para roubar um velho e depois que lhe tiram o dinheiro ainda espancam-no brutalmente? O rapaz deu de ombros mais uma vez.
— É o que todo mundo faz.
— Já fez isso também? — A Sra. Grady fitava Tobin atentamente, com desaprovação. — Devia se envergonhar.
Tobin suspirou. Enfiou a unha do polegar entre os dentes. Ouvira esse tipo de conversa antes e sentia-se entediado. Mas depois ouviu algo mais que prontamente atraiu-lhe a atenção.
— Queria saber se vou falar com a polícia a seu respeito — disse a Sra. Grady. — E se eu não o fizer? Deus sabe que não quero fazê-lo. Mas se deixá-lo partir agora, como vou saber que não estarei sujeitando alguma pessoa inocente à sua maldade no futuro? Como posso saber que esta noite ou amanhã você não atacará alguém?
O rapaz pensou por um momento. Olhou para o pé avermelhado na água. Simbolizava o seu desamparo.
— Vocês, jovens de hoje, são absolutamente horríveis — acrescentou a Sra. Grady. — E se eu pegasse um porrete agora e o espancasse, aproveitando o fato de estar sentado aí impotente? Isso seria certo? E eu teria plena justificativa. Afinal, tentou roubar o dinheiro de que eu preciso para viver. Sou uma viúva, sozinha no mundo.
— Não posso fazer nada, madame — disse Tobin, baixando a mão. — É assim que as coisas são.
— Isso significa obrigatoriamente que você também tem de ser assim? Jamais lhe ocorreu que poderia viver de uma maneira melhor?
— Essas coisas vêm acontecendo há muito tempo.
— Tem toda razão. O crime é tão antigo quanto o mundo. Mas o que estou querendo ressaltar é que se tornou horrivelmente brutal. Não há realmente a menor necessidade de ser assim. Ê uma coisa insensata. Quando eu era jovem, o crime era diferente. Havia muito cavalheirismo. Cometia-se o crime com mais gentileza, menos brutalidade.
O rapaz pensou novamente, roendo a unha do polegar. Quantas pessoas haviam tentado reformá-lo até então? Começara na escola, com os professores, depois os pais, o irmão mais velho, determinadas autoridades municipais. Ele escutara todos os sermões cínica e ceticamente. As pessoas falavam com a maior facilidade. Algumas falavam de tal forma que davam até a impressão de que realmente não se importavam com o que diziam, que estavam falando apenas porque sentiam que era sua obrigação, que ficavam aliviadas quando podiam parar, quando Tobin era removido da presença delas. Ele sempre imaginara que as pessoas ficariam chocadas e incrédulas se lhes prometesse que iria se reformar. Mas Tobin nunca o fazia. Apenas escutava, porque sentia que as palavras eram vazias.
— Se eu entregá-lo à polícia, será muito ruim para você — disse a Sra. Grady. — Imagino que já tem ficha na polícia.
— Já estive envolvido com a polícia.
— Roubar correspondência é uma acusação muito séria. Ficaria atrás das grades por muito tempo. Quantos anos você tem?
— Vinte.
A Sra. Grady pareceu ficar abalada com a informação. E disse a si mesma: Vinte anos! Mas que terrível tragédia!
— Mas se eu deixá-lo ir embora, quem sabe o que alguma pessoa inocente poderá sofrer em suas mãos?
— Talvez ninguém venha a sofrer — disse o rapaz, inesperadamente.
A Sra. Grady sentiu-se exultante. Mas não se atreveu a deixar transparecer. Examinou o rapaz atentamente, procurando sondar a sinceridade dele. Tentou parecer descontraída, a fim de que seus pensamentos não ficassem patentes em seu rosto.
— Como posso saber que tem realmente essa intenção?
— Já estive na cadeia antes. Vou ser franco. Não gostei e não quero voltar nunca mais. Mas imagino que algum dia acabarei voltando, se continuar assim.
— Ah, já está começando a entender as coisas! — A Sra. Grady sentiu uma pontada de excitamento. — É homem o bastante para fazer uma promessa e cumpri-la?
— Sou, sim.
— Promete mudar o seu comportamento e levar uma vida decente?
— Claro. Está absolutamente certa. Sei que está. Nunca me falaram assim antes. Sinto que está falando sério, que realmente ficaria satisfeita se eu me endireitasse.
— Claro que me importo. Não me agrada a idéia de você sair por aí a bater nas cabeças das pessoas.
— Vou ser franco... Não será fácil.
— Mas vai tentar?
Mude a sua vida, meu caro Tobin, pensou o rapaz. Encontre o caminho certo e o siga. Vida nova. A perspectiva divertia-o, de uma maneira sardônica.
— Tentarei.
A Sra. Grady não sabia o que fazer. Sua mente concentrou-se inteiramente no problema. Era extraordinariamente complexo. Ela via o mundo inteiro envolvido. Era como se estivesse fazendo um julgamento de proporções universais. Começou a se perguntar se o destino não estaria se aproveitando dela injustamente, levando-se em consideração a magnitude do dilema. Mas depois ela chegou à conclusão de que um dever lhe fora imposto e que teria de tomar uma decisão.
Franziu o rosto, como um magistrado. Não queria mandar aquele rapaz para a cadeia. O destino dele estava agora em suas mãos. Aquele grande poder fazia com que se sentisse humilde. Ela pensou: O que Oliver faria? Oliver sempre fora um homem muito rigoroso. Mas também era compadecido. Muitas vezes proclamara que os homens não tinham compreensão suficiente. Ela olhou para Oliver franzindo o rosto da parede, numa moldura dourada sem lustro. Mas a expressão dele não se alterou. O problema estava nas mãos da Sra. Grady.
Ela tinha a promessa do rapaz. E se fosse uma promessa sincera? E se mandasse o rapaz para a cadeia no momento mesmo em que ele estava se esforçando em redimir-se? Se isso acontecesse, então tal ação da parte dela seria imperdoável.
O rapaz perguntou:
— Vai me entregar aos tiras?
A pergunta deixou a Sra. Grady confusa. Compelia-a a uma decisão, antes que tivesse amadurecido tudo em sua mente.
A Sra. Grady sabia perfeitamente que algumas pessoas eram levadas pelas circunstâncias a uma vida de crime, sem que pudessem fazer coisa alguma para evitar. E sabia também que algumas achavam tal vida irresistível.
— Entende o que está prometendo?
— Claro.
— Está prometendo mudar de vida. Talvez seja pedir demais de você.
Tobin parecia em dúvida.
— Prometa-me pelo menos que deixará de bater nas cabeças dos outros e nunca mais andará com essas facas horríveis e outras armas.
— Está certo.
A Sra. Grady cruzou as mãos. Estava imensamente satisfeita.
— Estará prestando um grande serviço a si mesmo — disse ela. — Oh, Deus, devo estar parecendo uma velha pregadora ou algo assim. A água já esfriou? Vou esquentar mais um pouco. Fique sentado aí e trate de relaxar. Estará bom daqui a pouco. Já dá para ver que seu tornozelo está melhorando.
Ela pegou a bacia e voltou à cozinha. Depois de observá-la afastar-se, Tobin apoiou-se nos braços da poltrona e levantou-se. Afastou o apoio à sua frente e gradativamente foi se apoiando no tornozelo contundido. Para sua imensa satisfação, descobriu que podia apoiar-se com um mínimo de dor. Deu alguns passos e considerou-se curado. Rapidamente pôs a meia e a botina, amarrando o cordão. Empertigou-se e correu os olhos pela sala. Avistando uma cômoda, foi até lá e abriu a gaveta de cima. Havia uma caixa de metal no canto. Tobin abriu-a e uma onda de excitamento invadiu-o, ao deparar com jóias fulgurando em algodão. Levantou uma pulseira faiscante, mantendo-a diante dos olhos ávidos. Meteu-a no bolso. Depois, pegou o resto das jóias.
Ao virar-se, descobriu que a Sra. Grady estava parada na porta da cozinha, observando-o, com a bacia cheia de água nas mãos. A expressão dela era de profunda consternação. Por um momento, Tobin sentiu-se envergonhado. Mas tal sentimento logo se desvaneceu.
— Muito bem, dona.
Tobin aproximou-se dela. Claudicava ligeiramente, mas isso era um problema menor, com todas aquelas jóias queimando em seu bolso. Pegou a faca de mola aberta e acrescentou:
— Não quero machucá-la, dona.
A faca estava frouxa em sua mão, a luz quase fazendo a lâmina desaparecer. Os olhos da Sra. Grady irradiavam uma profunda censura.
— Por que tem de levar essa arma horrível? Por que não a joga fora?
— Estou de saída — disse o rapaz. — E quero ir embora discretamente. Quero que fique de boca fechada até eu estar longe. Deu-me uma oportunidade e agora estou lhe oferecendo outra em troca. Se disser uma palavra aos tiras a meu respeito, voltarei aqui para liquidá-la.
Com essa terrível ameaça, Tobin recuou até a porta. Os dois ficaram se olhando com a intensidade de duelistas, a Sra. Grady ainda segurando a bacia de água à sua frente, como uma oferenda. E depois Tobin se foi. Ela pôde ouvi-lo a descer a escada correndo.
A Sra. Grady deixou escapar um suspiro, largou a bacia e correu até a cômoda. Sabia o que encontraria. Olhou para a gaveta aberta, a caixa vazia.
— Ele que vá para o diabo! — exclamou a Sra. Grady, em voz alta.
Tobin saiu para o sol ofuscante. Olhou para as janelas do apartamento da velha. Esperava ouvir um grito a qualquer momento. E por isso tratou de correr. Correu por um quarteirão e virou a esquina, sempre a claudicar. A cena grotesca — um homem a correr, claudicando, insinuando que cometera alguma ação escusa — atraiu a atenção de dois guardas, num carro de patrulha. Foram atrás dele. Encostaram no meio-fio um pouco à sua frente e saltaram abruptamente do carro. Tobin ficou aturdido. E depois praguejou contra si mesmo.
Pouco depois, ele estava sentado na delegacia, a própria imagem do abatimento.
— Encontramos isto com ele — disse um guarda, largando a faca de mola na mesa de seu superior. O guarda fez uma pausa, antes de acrescentar dramaticamente o que evidentemente esperava que fosse algo sensacional, como apresentar uma presença real: — E mais isto!
E ele largou na mesa de seu espantado superior um punhado de jóias magníficas.
O superior quase que deu um pulo.
— Essa não! — sussurrou ele.
— Tudo confere — disse o guarda que apresentara as jóias, sorrindo como um pai de gêmeos. — Algumas das jóias dos Hascombs. E o resto parece que vem de alguns daqueles outros trabalhos em Long Island.
O rapaz ouviu e virou-se rapidamente, primeiro para a direita, depois para a esquerda. Tudo o que pôde dizer foi:
— Ei, eu não fiz esses trabalhos!
Mas tudo o que ele ouvia eram vozes que soavam engana-doramente paternais, mas que sabia que estavam apenas se preparando para atitudes mais rigorosas.
— Claro, garoto, claro. É sempre assim que se começa. Mas trate de contar-nos tudo.
Webber chegou a Wilde Island na tarde de terça-feira, no barco de correspondência.
A Wilde Island Inn ficava numa plataforma rochosa logo acima do cais. Como não havia veículos na comunidade, todos andavam a pé. Ele subiu com os companheiros de viagem pela estrada de terra íngreme, sem falar com ninguém, olhando ao redor, para a praia, o barco atracado, as gaivotas a gritarem. A estrada se bifurcava lá em cima. À direita, ficava a hospedaria, à esquerda uma fileira de chalés. Um farol estava empoleirado no alto de outra colina, mais elevada.
Webber e diversas outras pessoas do grupo seguiram pelo caminho da direita, na direção da hospedaria. Diversas pessoas na varanda comprida, sentadas em cadeiras de balanço, observavam-nos especulativamente.
Webber esperou até que os outros se registrassem, antes de se aproximar da recepção.
— Não tenho reserva — confessou ele, sorrindo. — Se não puder me acomodar, darei um passeio pela ilha e voltarei para Scoville Harbor no barco da noite.
A recepcionista, uma universitária bastante bonita, disse-lhe que poderia ficar num quarto com banheiro, de frente para o mar, explicando:
— Ainda estamos no início da temporada. Julho e agosto é que são os meses de maior movimento.
Ela entregou-lhe a ficha de registro e afastou-se para atender um chamado na mesa telefônica. Webber pegou a caneta com a mão direita e depois passou-a para a esquerda. Escreveu: "George R. Reed, Down Road, 11, Nova York."
Quando a moça voltou, ele empurrou a ficha em sua direção e disse, simulando embaraço:
— Sou canhoto e essa caneta parece ter sido usada exclusivamente por pessoas destras. Receio tê-la estragado.
— Não há problema — respondeu a moça. — Quarto 44, no segundo andar.
O nome na ficha estava quase ilegível, todo borrado, do esforço de usar a caneta de maneira tão inexperiente. A moça se lembraria de que ele era canhoto... se algum dia se tornasse necessário lembrar alguma coisa sobre George R. Reed.
O Quarto 44 tinha o conforto parco habitual de qualquer hotel de veraneio antigo e marginalmente lucrativo, com uma cama, uma poltrona, uma mesinha de cabeceira, uma cômoda e dois abajures. Webber entrou, largou as malas, trancou a porta. Foi até a janela e contemplou o gramado, com suas cadeiras de madeira pintadas de branco, o campo de críquete, canteiros de flores. Lá embaixo, o mar refletia as ondas douradas do sol, barcos de pesca de lagosta e pequenas lanchas de passeio ancoradas, balançando suavemente ao vento e à maré que subia.
Foi ao espelho a fim de examinar-se. Esquecia às vezes como se parecia. Além disso, era sempre um prazer observar os resultados de seu admirável talento.
George R. Reed, como ele o concebera, era um homem de estatura mediana, os cabelos pretos se tornando grisalhos, ombros largos, uma barriga incipiente. George R. Reed enviuvara recentemente e por isso não se sentia propenso a entabular súbitas amizades de verão ou conversas espontâneas. Era canhoto, tinha uma letra horrível e era, de um modo geral, um tanto desajeitado e tímido. Fazia uma dieta de pouco sal, o que exigiria indagações a respeito do tempero das comidas.
Webber estava inteiramente satisfeito com George R. Reed.
Ele leu uma revista e cochilou na poltrona até cinco horas. Depois, lavou as mãos, ajeitou os cabelos desmanchados pelo vento e desceu para o salão de jantar. A anfitriã consultou sua prancheta e informou que ele se sentaria a uma mesa em companhia do Sr. e Sra. Fielding e de Miss Lyons.
Ele rejeitou o plano timidamente. Explicou que viera a Wilde Island para descansar, não em busca de confraternização social. Acrescentou que perdera a sua esposa querida há poucas semanas e sua estada ali visava a recuperar o controle emocional, não a esquecer. Ainda não. A voz ligeiramente rouca que assumira para George R. Reed tornou-se ainda mais rouca de emoção.
A anfitriã compreendeu e deu-lhe uma mesa solitária, onde ele perguntou imediatamente à garçonete sobre o sal da comida.
Foi durante a salada que ele identificou o homem que tencionava matar.
Eram três homens, todos vestidos informalmente, mas cuidadosamente, encaminhando-se inexoravelmente para a casa dos 40 anos. West não estava absolutamente nervoso, como na última e única outra ocasião em que Webber o vira. Fora na noite em que West lhe fora indicado. Ele acabara de ser absolvido de uma acusação de homicídio e ganhara um jantar de comemoração, oferecido por amigos impressionados. Naquela noite, tentara disfarçar sua ansiedade e abatimento falando e bebendo demais.
Webber ficou observando o trio durante o resto da refeição, depois foi para o seu quarto e dormiu.
No dia seguinte, ele iniciou o trabalho de reconhecimento. Examinou primeiro a própria hospedaria, entrando no bar, convidando-se a visitar a cozinha, admirando a vista do telhado. Desceu até o cais, percorreu a praia, subiu por uma trilha no bosque, deu uma volta grande para retornar à hospedaria, depois de passar pelo armazém geral, a agência dos correios e a igreja. À tarde, seguiu na outra direção, passando pela pequena área residencial, parando por uma hora na biblioteca para ler um pouco, subindo pela colina mais alta, em que estava o farol, até que avisos da Guarda Costeira advertiram-no a não seguir adiante.
Na quinta-feira, levando um cesto com um lanche preparado na hospedaria, ele foi ao lado oeste desabitado da ilha, onde pintores retratavam a vasta paisagem marinha. Contou seis cavaletes.
Via West nas refeições e também o encontrou em diversas outras ocasiões, durante os seus passeios. West nunca estava sozinho. O golpe teria de ser rápido e certeiro, pois West ainda estava de guarda e bastante guardado, embora aparentemente tivesse abandonado uma boa parte de sua apreensão. West era inteligente o bastante para saber que um determinado segmento da população ressentia-se de sua absolvição e tinha os seus próprios métodos de fazer justiça.
Webber observava West com uma curiosidade científica, acadêmica, anotando seus hábitos, programações, preferências em termos de paisagens da ilha, o que e quanto comia e bebia, quantas vezes trocava de roupa, o quanto conversava com seus companheiros.
Verificou particularmente que todas as tardes West e seus companheiros sentavam-se nas cadeiras brancas no gramado, observando a chegada do barco de correspondência.
Na sexta-feira, Webber já chegara à conclusão de que aquele era o momento e o lugar apropriados. Ao final da tarde de sexta-feira, conforme combinara com seu empregador, um telegrama fonado foi transmitido do continente para a hospedaria, dizendo o seguinte: "Indispensável a sua presença em reunião às 11 horas da manhã de segunda-feira. Lamento interromper a sua recuperação tão necessária. Pode planejar o seu retorno, se gostou da ilha. Walter."
A linda recepcionista que recebeu a mensagem não pôde fingir ignorância de seu conteúdo.
— Se tenciona voltar — disse ela — então é melhor fazer uma reserva agora. Julho e agosto são nossos meses de maior movimento.
Webber sorriu.
— Vim descansar. Estes poucos dias foram bastante revigorantes. Tenho a impressão de que consegui recuperar o controle. Talvez agora o retorno ao trabalho.. a volta aos arreios... seja melhor.
— Que espécie de trabalho faz?
— Trabalho em construção... especialmente em construção com tijolos.
— Talvez seja mesmo melhor. — Todos na hospedaria já sabiam àquela altura de sua perda recente. — Fazer alguma coisa... construtiva.
Weber assentiu e suspirou.
— O hábito é importante. Talvez seja a melhor coisa para acabar com a dor. Um homem deve se apegar a seu ofício, mesmo que esteja se sentindo...
A moça compreendeu, mas assim mesmo disse:
— Se quiser voltar, é melhor fazer uma reserva agora.
— O hábito do trabalho. — Webber sorriu. — Você também o tem.
Ela não compreendeu exatamente o que ele estava querendo dizer e por isso limitou-se a sorrir em resposta.
Sábado era o dia de mudança. Os hóspedes antigos partiam e os novos chegavam, em maior quantidade do que em qualquer outro dia da semana.
No início da manhã, Webber percorreu o seu roteiro mais uma vez. Ficou pelo saguão até estar vazio, a recepção momentaneamente sem ninguém. Seguiu então apressadamente para o bar deserto e às escuras, verificou a porta do banheiro dos homens para ter certeza de que não estava trancada, passou pela porta feita para que os ocupantes dos chalés pudessem entrar e sair, sem atravessar a varanda e o saguão. Observou que as cadeiras brancas estavam no mesmo lugar, na parte mais alta do gramado, depois avançou pela encosta gramada que dava para o mar, até o alto da escada dos banhistas, escavada na rocha, lembrando-se no caminho que os contornos do gramado impediam que fosse visto por observadores na estrada. Desceu a escada e virou à direita, subindo pela praia pequena e inóspita, chegando ao cais. A hospedaria e a estrada pairavam acima dele. Perfeito, pensou Webber.
Ao voltar ao seu quarto, descobriu que a camareira já o estava arrumando para um novo hóspede.
Sua bagagem estava arrumada e fechada. Ele levou-a para o saguão. Perguntou se o barco estava no horário e saiu para a varanda, a fim de contemplar pela última vez a enseada agradável, as pequenas embarcações, o mar encapelado. Enquanto ele parecia estar admirando pela última vez a paisagem de Wilde Island, West e seus amigos saíram e foram ocupar seus assentos habituais no gramado.
Webber esperou até que a maioria dos outros hóspedes acertasse as contas, antes de aproximar-se da recepção. O saguão úmido estava repleto de pessoas e bagagens, ressoando com vozes se despedindo, fazendo promessas de escrever, de se encontrar ali novamente no ano seguinte. Webber pegou a conta, examinou-a, levou a mão ao bolso para tirar a carteira.
Foi nesse momento que a faca escapuliu-lhe e cravou-se na madeira antiga do assoalho. Ficou vibrando ali, zunindo, por um momento, depois tornou-se imóvel.
Um silêncio horrorizado baixou sobre o saguão, como se uma cortina de teatro se fechasse, isolando-o de todas as pessoas, mas não atenuando a consciência de sua presença.
— Oh, Deus! — exclamou Webber. Ele pegou a faca e repetiu: — Oh, Deus!
Enfiou a faca no bolso e encontrou o lenço, que enrolou em torno da mão esquerda. A bonita recepcionista estava completamente aturdida.
— Deve compreender! — Webber estava falando para ela, mas as outras pessoas nas proximidades, cuja atenção agora se concentrava nele, esforçavam-se para ouvir. As lágrimas afloravam perceptivelmente em seus olhos. — Estava desesperado quando cheguei aqui. Não podia viver. Pensei...
A moça aprumou-se prontamente, pelo hábito do trabalho, procurando remediar a situação da melhor forma possível.
— Acho que se cortou. É melhor ir se lavar...
— Está bem.
Webber encaminhou-se para a escada, na direção do quarto que ocupara até poucos minutos antes. Parou de repente, com uma expressão aturdida.
— O banheiro dos homens no bar! — disse uma voz. — No bar!
— Está bem, está bem — murmurou Webber, acenando com a cabeça distraidamente. — Minha caixa de primeiros socorros... em que mala está?
Para resolver a questão, ele pegou as duas malas e seguiu apressadamente para o bar, enquanto o tumulto de vozes no saguão aumentava acentuadamente. Fechou a porta do banheiro no momento em que o sino no cais anunciava a chegada do barco.
No retângulo pequeno e escuro, Webber despiu-se rapidamente.
Tirou o casaco, com os ombros bastante estofados, a camisa branca que fora feita para se ajustar ao corpo que ele assumira, a calça cujos contornos haviam alterado compulsoriamente a sua maneira de andar. Por baixo da cueca, havia um enchimento de espuma de borracha, que formava as suas costas e a barriga incipiente. Empertigou-se e contemplou o seu corpo jovem e musculoso no espelho empoeirado. Tirou os sapatos ligeiramente alteados e a peruca grisalha, desmanchando os seus próprios cabelos avermelhados. Removeu do interior da boca o pedaço curvo de borracha dura, que lhe distendera o lábio inferior.
Meteu todas as coisas descartadas na mala menor, que continha artigos dispensáveis, quase no fim: pasta de dentes, cremes de barbear, lâminas. Fechou a mala menor e guardou-a na maior.
Vestiu-se agora como ele próprio: camisa azul, calça de flanela, casaco azul, mocassins de couro. Penteou os cabelos e pôs os óculos. Contemplou-se no espelho e admirou o vigor evidente dos ombros esguios, a sua identidade familiar, bem modulada e compacta.
Mesmo essa inspeção era parte do tempo calculado. Levara dois minutos e nove segundos... Não tanto quanto poderia ser necessário para estancar o sangue de um corte na mão, produzido por uma faca suicida, mas o suficiente para que as pessoas no saguão, no tumulto da partida, começassem a se encaminhar para a porta, esquecendo-se inteiramente de George R. Reed e sua arma.
Webber saiu do banheiro para o bar escuro e vazio. Recendia a invernos letárgicos, gerações de tabaco consumido e drinques inacabados. Carregando a única mala, ele encaminhou-se silenciosamente para a porta pública e saiu para o sol. Seguiu o caminho para o ponto designado, tirando a faca, sem interromper o ritmo.
West e seus amigos estavam sentados nas cadeiras brancas, observando o barco no cais e os hóspedes que partiam, descendo ruidosamente a colina.
Agora de óculos, Webber constatou que seu plano fora excelente. Tudo estava mais claro, mais definido. Podia até divisar as aberturas de cinco centímetros entre as madeiras que constituíam as costas das cadeiras. As lentes corretivas e mais o seu conhecimento de anatomia tornavam o trabalho agradavelmente compensador num desafio à sua perícia. Segurou a faca pela lâmina, fechou o olho direito e arremessou-a, com um movimento brusco e simultâneo do ombro esguio e do pulso largo.
West remexeu-se por um instante e depois relaxou.
Os guarda-costas estavam protegendo um homem morto.
Webber seguiu pela trilha, desceu a escada dos banhistas, atravessou a praia inóspita, chegou ao cais, misturou-se aos hóspedes que subiam lentamente para a hospedaria. Passaram pelos hóspedes de partida, que haviam esquecido momentaneamente a existência de George R. Reed.
Como era seu hábito, ele esperou até que os outros se afastassem, depois de se registrarem, fazerem indagações, dispersarem-se para os quartos designados.
— Alô! — exclamou ele para a recepcionista, efusivamente, saudando-a com sua própria voz. — Sou Paul Wilton. Passei um telegrama no último sábado, fazendo uma reserva.
Webber compreendeu, pelos olhos da recepcionista, que ele era um estranho total e não muito simpático.
— Reservamos o Quarto 42 para o senhor.
— O que as pessoas fazem por aqui para se divertir? Não vi nenhuma quadra de tênis. E aquela praia nem mesmo está decentemente coberta de areia.
— As pessoas vêm a Wilde Island pela paisagem ou para descansar — respondeu a recepcionista. — Se não quiser pintar nem desenhar, não terá muito o que fazer por aqui... exceto descansar.
Ela empurrou a ficha de registro em sua direção. Ele pegou a caneta com a mão direita e escreveu: "Paul Wilton, Autumn Street, 112, Battlebrook, Connecticut." Sacudiu a caneta e perguntou:
— Quem andou escrevendo com esta caneta? Algum garoto?
— Tivemos um hóspede um tanto difícil. Ele era canhoto e causou muitas dificuldades. Estragou a caneta e ainda quis cometer suicídio. Bem aqui!
Webber percebeu o excitamento dela.
— E ele foi trancafiado?
— Oh, não! Acaba de partir no barco... graças a Deus! Webber riu junto com a moça e depois indagou como chegar
a seu quarto, comentando:
— Espero que tenha um bom chuveiro. Estou me sentindo todo salgado.
Ela apontou para a escada e depois voltou a concentrar-se em seu trabalho.
No momento em que Paul Wilton fechava a porta do quarto, os guarda-costas de West descobriram finalmente que estavam guardando um cadáver. O tumulto desencadeou-se sobre o gramado. Ele foi até a janela e ficou observando a confusão que transtornara o jogo de críquete, os admiradores da paisagem e os pintores vespertinos. Depois, foi para o banheiro pequeno e escuro, abriu o chuveiro. Tinha experiência suficiente com aqueles encanamentos antigos para saber que sua água correndo frustraria os planos de qualquer pessoa no andar que desejasse lavar as mãos ou puxar a descarga. Se interrogado, Paul Wilton poderia confirmar e ter testemunhas para provar que estava tomando um banho de chuveiro no momento em que o corpo fora descoberto.
Lavou-se meticulosamente e tirou outra muda de roupa da mala grande: um terno de lã cinza-azulado camisa branca, gravata listrada, sapatos pretos.
Desceu para o bar às seis horas.
Era obviamente um recém-chegado, curioso, gregário, um tanto intrometido. Tentou pagar drinques para diversas pessoas e obter informações sobre desvios óbvios da rotina do hotel. Àquela altura, o saguão estava repleto de pessoas vindas do continente na lancha mais rápida da Guarda Costeira: um xerife, guardas de Scoville Harbor e, surpreendentemente, dois agentes do escritório mais próximo do FBI. Ninguém tinha permissão para ficar no saguão ou usar a pequena sala de leitura no lado oeste. No bar, corria o rumor de que a vítima estava lá, estendida na mesa antiga das revistas.
Webber queixou-se ao bartender, com uma atitude estudada e desagradável:
— Vim até aqui para me divertir. Saio do barco, tomo um banho de chuveiro e desço para tomar um drinque sociável. E o que acontece? Um camarada grandalhão me expulsa do saguão antes que eu tenha tempo de entregar a chave na recepção. E todo mundo aqui... — Ele acenou com a mão para os outros fregueses. — ...fica de boca fechada e nem mesmo quer dar um alô.
— Temos um problema — confidenciou o bartender.
— E daí? Qual é o problema? Aquele bode velho que está ali, de casaco preto, diz que tem um cadáver lá na sala de leitura. Então algum cara se afogou... numa ilha. É um risco que se corre quando se vem para uma ilha. Afinal, está-se cercado de água...
— O cara foi apunhalado — informou o bartender. — Ele e dois amigos estavam sentados no gramado e de repente os outros constataram que estava morto.
Webber franziu o rosto, pensativo por um momento.
— Era um cara graúdo... pelo que estão dizendo agora — acrescentou o bartender, contente por ter um ouvinte que sabia menos do que ele. — Parece que era um chefe de quadrilha, Chris West. Foi absolvido de uma acusação de homicídio há dois meses.
Ele limpou um copo pequeno e depois disse:
— Para mim, ele era Mr. Davis. Um bom sujeito. Dava ótimas gorjetas. E o mesmo acontecia com seus dois amigos. — Ele serviu outro bourbon para Webber. — Foi apunhalado de perto... em plena luz do dia.
— E a faca pertencia a um homem chamado Reed, que foi embora no barco da tarde — informou um freguês ao lado de Webber.
Webber demonstrou um breve interesse pelo estranho.
— Vão agarrá-lo — previu ele. — Não pode haver a menor dúvida de que será preso no momento em que o barco atracar em Scoville Harbor.
O outro freguês disse, pacientemente:
— Posso ressaltar que o barco estava em Scoville Harbor há duas horas e não encontraram Reed a bordo?
— Então obviamente ele ainda está aqui! — concluiu Webber, com a maior felicidade.
— Ele estava pensando em suicídio — comentou o bartender. — Foi ele próprio quem disse.
— O que não tem nada a ver com homicídio — disse o terceiro homem.
— Foi mesmo Reed, com toda certeza — respondeu o bartender, subitamente com vontade de conversar. — Ouvi dizer que a faca era realmente dele. Posso lhes oferecer um drinque por conta da casa?
— Mais tarde. Agora, tenho de comer alguma coisa. — Webber saiu do banco e acrescentou: — Apontem-me a direção da sala de jantar, senhores. Já não consigo mais beber como antigamente.
Ele passou a hora do jantar de forma agradável, embora especulativamente bizarra, em companhia do Sr. e Sra. Fielding e de Miss Lyons.
— Mr. Reed sentava bem ali — disse Miss Lyons, apontando discretamente com a mão que segurava o guardanapo. — Soubemos que ele se recusou a sentar em nossa mesa. Queria ficar sozinho. Mas não pensamos em nada naquela ocasião.
— Um maníaco — proclamou Mr. Fielding. — Confessou ser um suicida no saguão. E depois virou um homicida. Isso é tudo.
Mas isso não encerrou o assunto para sua mulher ou Miss Lyons. Nem para Webber.
— Ele não falava com ninguém — disse a Sra. Fielding. — Ficava remoendo a morte da mulher.
— Mas não estava no barco que saiu daqui — informou Webber. — Contaram-me isso no bar. Portanto, ainda deve estar pela ilha.
E ele estremeceu visivelmente. Miss Lyons disse:
— Encaro a coisa de uma maneira muito realista. Ele tinha aquela faca... uma arma terrível. Tencionava usá-la para se matar. Mudou de idéia em relação a si mesmo, é claro... mas o impulso persistiu. Esgueirou-se até o pobre do Mr. Davis... ou West... e esfaqueou-o. Depois, acabrunhado, jogou-se de um daqueles penhascos horríveis no outro lado da ilha.
— Uma excelente análise! — aclamou Webber, suavemente. Miss Lyons transbordava de boa vontade e reconhecimento.
— Acho que vou contar sua teoria ao xerife — acrescentou Webber: — Podem me dar licença? Acho que uma coisa dessas não pode esperar.
Como acontecia com todos os demais hóspedes, Webber foi detido no saguão. Indagado qual era seu nome, ele respondeu:
— Paul Wilton.
— Onde vive?
— Autumn Street, 112, Battlebrook, Connecticut.
— Ocupação?
— Negociante de antigüidades.
— Há quanto tempo está aqui?
— Ele chegou esta tarde — informou a recepcionista. —
Por que tem de ser tão grosseiro com os hóspedes, Mr. Daley? Mr. Reed cortou a mão... a mão esquerda.
A moça fez uma pausa. Estava obviamente à beira das lágrimas nervosas.
— Mr. Wilton não tem qualquer atadura ou ferimento. Além disso, nem mesmo estava aqui.
— Desculpe, senhor. — O guarda Daley acenou com a cabeça. — Estamos apenas tentando descobrir alguma pista sobre um homem que estava hospedado aqui.
— O tal de Reed — disse Webber. — Escute, Daley, tenho algumas teorias. Quando estiver de folga, apareça em meu quarto... o 42... e lhe direi o que eu penso.
— Obrigado pela oferta tão gentil — respondeu Daley, asperamente, voltando ao seu posto na porta da sala de jantar.
Webber encaminhou-se para a recepcionista cansada e nervosa, comentando:
— Tudo isso deve estar sendo terrível para você. Ela assentiu.
— Estão interrogando todos os hóspedes, e os hóspedes culpam a hospedaria pela situação desagradável.
— É verdade que o nosso cadáver era um gangster?
— É o que estão dizendo. Os amigos dele admitiram que era um tal de Chris West, no momento em que deram o alarme. Disseram que não queriam nenhum "tira matuto" cuidando d., caso. Isso deixou o xerife furioso e ele chamou o FBI.
— Por falar em FBI — disse uma voz, tão perto e tão inesperadamente que Webber teve um sobressalto — o senhor poderia fazer o favor de retirar-se para o seu quarto ou ir para qualquer outro lugar? Estamos tentando manter o saguão livre.
— Você é do FBI? — perguntou Webber.
O rapaz de cabelos escuros e olhos azuis assentiu.
— Pode me fazer um favor? — acrescentou Webber. — Nos filmes, os caras do FBI sempre mostram as suas credenciais. Poderia me fazer o favor de mostrá-las?
Divertido, o agente atendeu.
— Uma boa fotografia sua — comentou Webber, lendo depois o nome em voz alta: — Anthony J. Bordenelli.
— Satisfeito? Webber sorriu.
— Quer saber de uma coisa, Tony? Vou dormir pensando neste caso. E posso lhe garantir que pela manhã terei algumas respostas para lhe oferecer.
— Obrigado. — Bordenelli também sorriu. — E agora quer fazer o favor de ir para o bar, sair para contemplar o luar ou subir para o seu quarto?
— Claro, claro — concordou Webber, jovialmente. — Voltaremos a nos falar amanhã de manhã.
Ao café da manhã, Webber estava na maior animação. Cumprimentou os seus companheiros de mesa com um ar de conspiração e conhecimento satisfatório.
— Já descobri tudo. Miss Lyons estava certa... até certo ponto. Reed mudou de idéia a respeito do suicídio, mas ainda estava dominado pela compulsão. Por isso, matou Davis... ou West... como for o caso. Mas ele não sentiu remorso nem se jogou de algum penhasco. Está escondido... em nosso meio. E vai atacar de novo.
Miss Lyons quase se engasgou com a torrada.
— Não está falando sério...
— Claro que estou! É perfeitamente lógico... e foi você, minha cara, quem me deu a pista para que a coisa ficasse completamente clara.
— É uma idéia macabra — murmurou a Sra. Fielding.
— Uma maneira horrível de se começar o dia — comentou Mr. Fielding.
Pelo resto da manhã, Webber persistiu impávido em seu curso, importunando os representantes da lei, alarmando os hóspedes, tentando organizar grupos de busca para descobrir Reed.
Às 10 horas, o corpo de West foi removido para uma lancha da Guarda Costeira e levado para o continente. Os guarda-costas desempregados foram juntos, assim como o xerife e os guardas.
Os rádios transmitiram durante o dia inteiro a notícia internacionalmente sensacional de que Chris West, criminoso famoso, que por anos se mantivera à margem da lei, encontrara o seu fim nas mãos de um assassino desconhecido, numa remota ilha do Maine, onde estava descansando, deixando a situação esfriar, depois de livrar-se de uma acusação de homicídio e esquivar-se às autoridades federais num caso fiscal. A maioria das pessoas parecia encarar o crime como um ato da Providência Divina: o carrasco fora um homem enlouquecido pela dor, que matara ao acaso, sem saber quem era a vítima. Muita gente chegou a comentar que George R. Reed, quem quer que fosse, prestara um serviço à sociedade e devia se apresentar, assumindo os riscos perante a lei... depois de ser apropriadamente recompensado pelo público agradecido.
O dia seguinte foi excepcional para Webber, em sua campanha para aumentar a própria impopularidade. A cada hora, ele tinha novas e melhores soluções para o crime. Não demorou muito para que todos na hospedaria, agentes do FBI, hóspedes e funcionários, começassem a desejar que George R. Reed atacasse novamente. Webber seria a próxima vítima.
Naquela noite, ao jantar, ele indispôs-se completamente com os Fieldings e Miss Lyons, com um monólogo de duas horas sobre crimes bizarros e horríveis, acidentes trágicos e macabros, as mortes misteriosas de pessoas obscuras, nos Estados Unidos e no exterior.
Webber passou a manhã seguinte interferindo, impondo-se e às suas idéias aos agentes, incomodando e irritando os hóspedes já furiosos e desconcertados.
Quando foi almoçar, a anfitriã recebeu-o na porta e comunicou que os lugares às mesas haviam sido mudados. Deu-lhe uma mesa solitária, a mesma em que George R. Reed se sentara sozinho. O Sr. e a Sra. Fielding e Miss Lyons conseguiram evitar-lhe o olhar magoado. Depois do almoço, quando subiu para o seu quarto, encontrou debaixo da porta um bilhete da gerência, lamentando profundamente um mal-entendido em relação a sua reserva. Era indispensável que seu quarto estivesse desocupado até cinco horas da tarde. Os esforços para providenciar-lhe outras acomodações em Wilde Island haviam fracassado e por isso era sugerido que voltasse para Scoville Harbor no barco do cair da tarde.
Perfeitamente satisfeito, Webber começou a arrumar as malas.
Às cinco horas, desceu com a mala para o saguão.
Bordenelli, o agente do FBI, estava sentado a uma mesa no canto, trabalhando ativamente, com uma máquina de escrever portátil. Webber interrompeu-o para anunciar sombriamente:
— Estou de partida.
— Boa viagem — respondeu Bordenelli, pacientemente.
— Houve uma confusão com a minha reserva. Estão precisando do quarto. — Ele fez um esforço evidente para ler o que Bordenelli estava escrevendo. — Não se incomoda que eu vá embora?
— Não tenho qualquer objeção — informou Bordenelli, num tom que teria ofendido qualquer pessoa mais sensível.
— Mas eu poderia ser muito útil, se quisessem dar atenção a minhas idéias...
Bordenelli levantou-se.
— Já ouvi as suas idéias. E posso dizer que deixou quase todo mundo por aqui apavorado.
— Mas eu poderia ser muito útil...
— Escute, Wilton, você nem mesmo estava aqui quando o crime ocorreu — ressaltou Bordenelli, asperamente. — Está se intrometendo em tudo e tornando o caso ainda mais confuso do que era no início.
— Vai acabar descobrindo que estou certo — insistiu Webber. — As pessoas matam outras pessoas e escapam impunes porque os investigadores profissionais não querem as opiniões desinteressadas dos observadores imparciais.
— Não gosto desse tipo de conversa — declarou o agente federal.
— Nem eu. Mas é a pura verdade. Ficarei surpreso se algum dia você pegar este assassino... do jeito como está agindo.
Bordenelli finalmente perdeu o controle e a calma adquirida com a experiência profissional. E gritou:
— Se sair desta maldita ilha e parar de confundir todo mundo, poderemos pegar o assassino! Você nem mesmo estava aqui na ocasião do crime! Nunca viu West nem Reed, mas parece que sabe de tudo!
— Quer dizer que não há problema se eu for embora? — indagou Webber, ainda impermeável aos insultos.
— Vá embora logo de uma vez! Suma daqui! Desça logo e fique esperando pelo barco! Ou melhor ainda, deixe a ilha nadando! Só quero é que me deixe em paz!
— Está bem, está bem — murmurou Webber, com uma cara de infeliz. — Mas ainda vai se arrepender de não ter me mantido aqui e...
— É um risco que vou adorar correr — comentou Bordenelli, com um sorriso.
Webber foi embora no barco que deixou a ilha ao cair da noite.
O carro preto e branco da polícia avançava impetuosamente pelo tráfego vespertino, a sirene uivando freneticamente. Derrapou ao virar uma esquina, inclinando-se perigosamente.
— Vamos com calma — disse o homem no banco traseiro, calmamente.
— Mas eu pensei...
— Quero apenas que nos leve até lá.
O Capitão Dan Kellogg podia ver o próprio rosto no espelho retrovisor. Era um rosto comprido e feio, com rugas profundas. E, naquele momento, era também um rosto tenso. Deixou que os músculos das mandíbulas relaxassem e o rosto desanuviou-se um pouco. Mais uma vez, pensou ele. Tinha de estar preparado. Mas não estava absolutamente preparado. De certa forma, nunca estava. Estava tomando uma xícara de café no escritório, conversando sobre a partida de beisebol do sábado, quando chegara o aviso. O guarda avisara-o pelo sistema de comunicação interna:
— Temos mais uma, Dan. Estamos com um carro à sua espera.
Ele descera correndo para o carro, batendo a porta no instante mesmo em que as rodas começavam a girar. Cada momento era importante agora.
— Desligue a sirene quando estivermos a seis quarteirões do local — disse ele ao motorista.
— Sim, senhor.
— Há quanto tempo ela está lá?
— O tenente disse que há 20 minutos. Pode ser mais.
— Está certo.
Vinte minutos! Ela estava provavelmente se aproximando do momento crítico. Estava com dúvidas, e medo aumentando ou ficando ainda mais determinada. E somente ela sabia.
— O que diz a eles, Capitão Kellogg? — perguntou o motorista.
Dan Kellogg pegou um cigarro e acendeu o isqueiro. A mão estava quase firme e ele aspirou a fumaça antes de responder, com outra pergunta:
— O que você diria?
O guarda sacudiu a cabeça, mantendo os olhos fixados no cruzamento que se aproximava.
— Não sei. É algo que eu não poderia fazer.
A sirene uivava. Estou chegando. Espere por mim. Por favor, espere.
Talvez ele falhasse. Talvez fosse aquele o momento. Dan não queria pensar na possibilidade de fracasso. Com determinação, ele afastou o pensamento da mente.
O carro se aproximava do congestionamento de trânsito. Uma emissora de rádio dera a notícia e o público curioso correra para o local. Seria um caso difícil.
— Desligue a sirene agora, por favor — disse Dan.
O carro da polícia reduziu a velocidade, esgueirando-se entre os outros veículos.
Dan avistou uma mulher parada na esquina, olhando para o prédio. Ela segurava pela mão uma criança de quatro anos. Os dois pareciam estar ali para presenciar um ato circense.
— Fico imaginando por que — murmurou Dan, tristemente.
— Como, senhor?
— Não foi nada.
O carro parou a meio quarteirão do prédio.
— Tem alguma ordem, Capitão? Dan Kellog abriu a porta do carro.
— Comece a tirar essa gente daqui. Peça ajuda. Quero que todos os carros se afastem em cinco minutos. Isole a área por três quarteirões. Prendam qualquer um que resistir. E estou falando sério.
O motorista estendeu a mão para o microfone, obedientemente, enquanto Dan se afastava entre os carros parados. Ao aproximar-se do prédio, avistou um carro dos bombeiros, uma ambulância e dois outros carros da polícia. Os guardas, assim como todas as pessoas da multidão, estavam com as cabeças viradas para cima, observando o prédio.
Dan alcançava um dos carros da polícia quando um flash espocou diante de seu rosto. Ele sacudiu um dedo, furioso.
— Já chega! E agora saia daqui!
— Sou do Daily News... — disse o fotógrafo, arrogantemente.
— Prenda-o! — disse Dan ao guarda.
— Não pode...
— Tire-o daqui!
Dan não permitiu que seus olhos procurassem o 14.° andar. Disse ao guarda:
— Mande o caminhão dos bombeiros e a ambulância se postarem depois da esquina. E providencie a limpeza desta área. Entendido?
— Sim, Capitão.
O guarda estava acenando com a cabeça. Era um louro sueco grandalhão e Dan pensou que ele cumpriria o serviço rapidamente.
— Ela fez algum movimento nos últimos minutos?
— Não, senhor. Ela está parada lá em cima, olhando para o céu.
Somente naquele momento é que Dan permitiu que seus olhos subissem pelo prédio. A mulher era uma pequena mancha vermelha na fachada cinzenta. O vestido vermelho adejava à brisa, as pernas estavam abertas para a manutenção do equilíbrio, as costas comprimidas contra a parede, a cabeça virada para um céu quase sem nuvens.
— O que vai fazer, Capitão? Era o repórter que voltava.
— Partilhar a vista — respondeu Dan, suavemente.
Ele atravessou a rua e entrou no prédio. Era um hotel, um lugar elegante. Ele imaginou que a mulher morava ali. Não era pobre. Portanto, não era por causa de dinheiro. Mas raramente era esse o motivo.
Você está pronto, Dan? Tem de estar.
Dan encaminhou-se rapidamente para o elevador, consciente de que o gerente e um detetive do hotel convergiam em sua direção. Não ficou esperando por eles. Sem parar, perguntou ao gerente:
— Como posso chegar lá?
— Pela janela. Ela saiu pela janela.
— Qual é a largura da platibanda?
— Dois ou três palmos.
Outro guarda estava postado ao lado do elevador. Dan abriu a carteira, mostrando-lhe sua identificação, depois virou-se para o gerente e o detetive, dizendo:
— Subam comigo.
O elevador subiu velozmente.
— Quem é ela?
— Miss Hanson... Susan Hanson — respondeu o gerente.
— Quantos anos?
— Deve ter 28 ou 29 anos. Ela pode...
— O que ela faz?
— É uma artista. Desenha cenários para produções musicais. Ou algo parecido.
— Não é casada?
— Oh, não! Ela é...
— Ê o quê?
O elevador parou, a porta abriu.
— Ela é um tanto feia — disse o gerente, caridosamente.
Dan saiu do elevador. Um guarda estava parado à porta do apartamento, no meio do comprido corredor atapetado.
— Vamos logo. — Dan encaminhou-se para a porta, em passadas largas. — Tem alguma idéia de qual pode ser o problema dela?
— Não... Ela parecia muito controlada. Eu não podia imaginar...
— Ela tinha um homem?
— Como, senhor?
— Um homem... visitando-a aqui recentemente?
— Nós não...
— Limite-se a responder. Sempre sabe o que está acontecendo.
O gerente virou-se para o detetive do hotel, um latino baixo, de olhos penetrantes.
— Um homem vinha visitá-la regularmente. Mas não o tenho visto ultimamente.
— Ele ficava a noite inteira?
— Ficava até tarde, mas não a noite inteira. O gerente franziu o rosto.
O guarda deu um passo para o lado quando Dan chegou à porta.
— Qual é o seu nome?
— Sargento Devore.
— Muito bem, Devore, quero este lugar vazio e quieto. Tem alguém lá dentro?
— Uma dupla de repórteres e um pregador. E o Tenente Masson.
— Essa é demais! — murmurou Dan, furioso.
Ele abriu a porta e apontou um dedo grosso para os dois repórteres, parados nas proximidades da janela.
— Muito bem... saiam.
— Olá, Kellogg — disse um deles, jovialmente. Como um piquenique. Olá, Kellogg.
— Não vou repetir a ordem.
A voz de Dan baixara ameaçadoramente. O Tenente Mason afastou-se da janela e viu-o. Estava afogueado e suando. O traseiro gordo do outro homem na janela parecia cômico.
— Aquele é o pregador? — indagou Dan.
— É, sim. Ela se recusa a responder-lhe.
Dan bateu no ombro do ministro e disse calmamente:
— Entre, por favor.
O ministro estava citando a Bíblia, enquanto recuava. Era jovem, com o rosto arredondado, de tanto comer.
— Acho que ela está escutando — murmurou ele.
— Está mesmo — concordou Dan. — Ela disse que entraria?
— Não quer falar.
— Importa-se se eu passar a cuidar de tudo agora?
— Eu estava lendo trechos do evangelho de...
— Importa-se? Vou sair lá para fora.
O ministro piscou os olhos, aturdido, virou o rosto para o Tenente Mason. Acenou com a cabeça, lentamente.
— Claro que não me importo. Dan adiantou-se e tocou na janela.
— Quero que todos saiam. Cuide disso, por favor, Mason. Momentos depois, o quarto estava vazio. Dan olhou ao redor,
pensativo. Estava hesitante. Pode conseguir, Dan? Se acontecer, você será capaz? Ele experimentou uma sensação incontrolável de incompetência. Não queria fazer aquilo. Mas não tinha opção. Absolutamente nenhuma.
Os músculos de sua barriga se contraíram quando passou pela janela. A mulher estava a três metros de distância, mexendo a boca silenciosamente, o rosto virado para cima. Os olhos estavam fechados.
Dan saiu pela janela em silêncio, observando-a atentamente, pois não queria surpreendê-la. Tudo era importante agora, tudo contava. Tudo mesmo.
Ele ficou de pé na platibanda. Devia ter provavelmente 40 centímetros de largura. Uma vertigem terrível invadiu-o, uma sensação de fraqueza espalhou-se por seu corpo, ao avistar os carros a meia dúzia de quarteirões de distância, como um pano de fundo. Não fez qualquer tentativa de aproximar-se da mulher. Em vez disso, afastou-se para o outro lado da janela, respirando fundo. Desabotoou o casaco e estendeu a mão para o maço de cigarros. A brisa era quente, não muito forte, bastante agradável.
Tirou um cigarro. Levou-o à boca, mas não acendeu. Ficou encostado na parede, com um ar descontraído, como se estivesse encostado num poste lá embaixo, esperando um ônibus.
Somos duas pessoas sozinhas agora. Isoladas do mundo. E terrivelmente desesperadas. Temos apenas um ao outro. E a eternidade.
Dan falou suavemente:
— Está com medo, Susan?
Ele observou o corpo dela se contrair, enquanto virava a cabeça, subitamente surpresa. Os lábios de Dan comprimiram tensamente o filtro do cigarro. O rosto dela era grotesco, como o de uma gárgula projetando-se ornamentalmente do lado do edifício. Os músculos do pescoço dela estavam tensos.
Dan sorriu.
— Não tenha medo, Susan. Por favor.
— Não chegue perto de mim! — A boca contraiu-se horrivelmente quando ela falou. — Vou pular!
Dan deixou-a controlar-se por um momento, antes de tornar a falar. Uma onda de emoção invadia-o. Ela era como uma criança, perdida e aturdida, pronta para saltar no desfiladeiro feito pelo homem. Poderia imaginar a agonia que isso estava causando a Dan?
— Mandei os carros se afastarem. — disse ele. — Quase todos já saíram lá debaixo. Achei que você gostaria que eu fizesse isso.
Ela olhou rapidamente para baixo e prendeu a respiração. Havia apenas a ambulância lá embaixo. E dentro de um momento, também desapareceria.
— Vou pular de qualquer maneira — disse ela. — Tenho antes que pensar em algumas coisas, mas vou saltar mesmo. Não me venha com algum sermão.
— Está certo. Mas quero que me me responda a uma pergunta, Susan. Está com medo?
— Não!
A resposta foi gritada.
— Seja sincera, Susan.
Ela virou a cabeça, os dedos se comprimindo contra a parede. Havia um brilho desesperado nos olhos.
— Estou... estou com medo. Mas vou pular... de qualquer maneira...
— Não tenha medo. Isso é o pior de tudo.
— Vou pular! Vou mesmo!
— Mas não tenha medo. Não vai querer morrer com medo. Ela murmurou algumas palavras ininteligíveis, os joelhos se vergando por um instante. Os lábios tremiam incontrolavelmente quando disse, quase gritando:
— Está dizendo que sou uma covarde!
— Não! Não estou falando do ato de pular. Essa é a parte mais fácil. Mas não quero que morra com medo da outra parte.
— Você não sabe de nada!
— Sei, sim — disse Dan, suavemente.
Ela virou-se para longe dele, o equilíbrio um tanto precário. Dan pensou que fosse pular naquele momento. Fechou os olhos e meteu a mão no bolso, tirando o isqueiro. Acendeu-o e encostou na ponta do cigarro. Abriu os olhos ao sentir o gosto da fumaça. Ela ainda estava ali. Seu senso de alívio momentâneo foi tão intenso que quase cambaleou.
— Não importa o que aconteça depois — disse ele, gentilmente — não gostaria de conversar comigo primeiro?
— Acho que vou pular agora — disse ela, ainda mais calmamente do que antes.
— Ainda não... por favor.
A voz de Dan era controlada, mas o coração acelerou subitamente. Ela examinou-lhe o rosto por um longo momento.
— Está parado aí como se...
— Não tenho medo — disso Dan. — Não tenho mais.
— Não vai tentar me impedir?
— Poderia?
— Não.
— Não farei isso. Eu compreendo, Susan. Compreendo perfeitamente. Sei que o problema não é absolutamente pular. As pessoas que estavam observando pensavam assim, mas se enganavam completamente. Elas não sabem de nada.
Ela não era bonita. O rosto tinha feições muito irregulares para que houvesse alguma beleza. Mas à medida que os olhos foram se tornando menos aterrorizados, Dan sentiu uma imensa suavidade. Uma grande profundidade.
— Você não pode compreender — disse ela, mas sem muita convicção.
— Claro que compreendo. Foi por isso que mandei afastar todo mundo. Eles não têm direito a este momento. É todo nosso.
— Nosso?
Ela soltou uma risada, que descambou para um soluço. Extremamente triste, terrivelmente desesperada.
— Não quer fumar um cigarro, Susan?
— Não... não chegue perto de mim.
. Ela estava novamente controlada. A percepção aguçada. Dan viu a mulher gorda na janela do prédio no outro lado da rua apontando, muito excitada. Pessoas... tão insensíveis. Mas será que eram mesmo?
— Aposto que ela está cozinhando alguma coisa — disse Dan. — Se virmos fumaça, saberemos que está queimando.
— Espero que queime mesmo.
Havia o princípio de um sorriso, mas logo se converteu numa carranca e Dan percebeu o ódio. Não era quase sempre assim. Os que podiam odiar profundamente ou podiam amar profundamente. Totalmente.
— Meu nome é Dan Kellogg. — Ele repetiu lentamente: — Dan Kellogg. Sou um agente especial.
— O que está tentando fazer?
Dan se perguntou se ela estava a par de que ficara um pouco mais calma.
— Partilhar este momento. Não importa o que aconteça. São momentos importantes.
Havia uma tristeza profunda na voz de Dan.
— Tem razão. Eu estava tentando manter-me calma.
— Quero que fique calma. Sabe como eu faço para conseguir isso?
— Não...
— Gostaria de saber?
Ela fitou-o rapidamente. Dan não se mexera. Estava encostado na parede, relaxando, fumando. Perguntou-se se ela estaria acreditando nele. Chegou à conclusão de que sim. Como ela não respondesse, Dan voltou a falar, pensativo:
— Penso naqueles momentos especiais que foram bons. Todo mundo sempre os tem.
— Está pensando que não vou pular!
— Não... mas se isso acontecer, quero que não tenha medo. Isso é tudo o que quero agora.
Dan pensou que ela aceitava a sua afirmativa.
— Conte-me tudo — disse ela.
— Trago esses momentos de volta. Sabe como são alguns deles?
— Pode contar-me. Mas depressa. Dan baixou a voz:
— Houve algumas ocasiões antes do problema. Antes que eu me sentisse incapaz de controlar a situação. Há muito tempo, eu era um garoto criado numa fazenda. Aposto que não pode imaginar que já fui um garoto criado numa fazenda.
Ele esmagou o cigarro contra a parede e guardou a guimba no bolso, porque ela não podia ver nada caindo... caindo...
— Muitas vezes eu ia até o pequeno lago que havia na fazenda e me deitava, escutando os sons. Deixava que o sol me entrasse pelo corpo. Tirava os sapatos, punha os braços por trás da cabeça e... pode parecer uma tolice... me sentia tão feliz que até ria. E não ria de nada, absolutamente nada.
Ela estava acenando com a cabeça.
— Já fez alguma coisa assim? — perguntou Dan.
— Eu não ria. Era parecido, só que eu não ria.
Dan mordeu o lábio com força. Estavam totalmente a sós. Procurando por compreensão. Procurando alguns momentos de tranqüilidade, naquele mundo louco e terrível, antes do desastre.
— E música também — acrescentou Dan.
A voz era serena, mas impregnada de emoção. Ela percebeu-o e virou a cabeça, curiosa. Dan não fez qualquer esforço para controlar-se.
— Houve momentos em que alguma melodia me entrou na cabeça. Lembro-me de andar por alguma rua à noite, assoviando uma canção de amor. Fazia com que meu coração... se sentisse repleto. E não importava que o caso de amor tivesse terminado tristemente, Susan. Aconteceu muitas vezes. Mas... e isso era estranho... a canção de amor estava ali. E mesmo quando era infeliz, a canção era o que importava. Pode compreender, Susan?
Ela sacudiu a cabeça.
— Há alguma escala quase matemática por trás de tudo. Como se, quanto maior a tristeza que se experimenta, mais profunda se torna a alegria quando tudo está bem. Não acha que pode ser isso?
Ela assentiu e falou, em voz cansada:
— Tudo acaba ficando tão opressivo que não vale mais a pena.
— Isso mesmo... às vezes.
— Já estou me sentindo melhor. Pode voltar agora. Acho que estou pronta.
— Você o amava muito, Susan.
— Amava mesmo.
— Susan... ele escarneceu de você, não é mesmo?
Ela soluçou, afastando uma das mãos da parede e cobrindo o rosto. Dan inclinou-se tenso, prendendo a respiração. Ficou esperando, até que ela virou a cabeça e viu a mão dele estendida. Dan baixou a mão para o lado do corpo. Ela não sabia o que aquilo significava para ele ou por quê. Mas saberia em breve. E Dan receava esse momento.
— Compreendo o ridículo — disse ele. — Mas não foi por isso que cedi. Não exatamente. Não há muita diferença entre nós.
— Ele disse coisas horríveis.
— Ele não passa de um idiota leviano, que só merece compaixão. E um ator? Vaidoso?
— Não. Era um artista. E usou-me. Depois, não precisava mais de mim.
— Conte-me tudo, Susan.
— Ele me fez sentir amada e acreditei nele. Não parecia possível que pudesse estar me enganando. Parecia um amor profundo e genuíno. Ele repetia dezenas de vezes que me amava. Como um disco enguiçado.
— E acreditou nele.
— Pedi-lhe que casasse comigo. Pensei que ele não teria coragem de puxar o assunto. Falei-lhe sobre um trabalho que poderíamos realizar juntos. Ele procurou o produtor e...
— Fez o trabalho sozinho.
— Isso mesmo.
— Lamento muito.
— Ele disse coisas cruéis quando me viu. Riu muito e... Acho que ele não sabia o quão profundamente eu o amava. Nem mesmo desconfiava.
— E não imaginava a coisa valiosa que tinha nas mãos.
— Não é autocompaixão. Apenas não quero mais viver. Dan tinha de se decidir em relação a ela. Mas já não se
decidira? Ela não era insana. E porque pensava lucidamente, ele não tinha opção. Estava comprometido.
— O meu caso foi diferente. Mas, de certa forma, foi também igual.
— De que está falando?
— Quando o meu momento aconteceu, Susan. Já estive na mesma situação. É por isso que compreendo. Gostaria de ouvir a história?
Ela não respondeu. Contemplava atentamente o rosto de Dan, com uma expressão pensativa.
— Eu tinha 22 anos, Susan. Vão fazer oito anos, nesta primavera. Havia um garoto... ele entrou num posto de gasolina uma noite e sacou uma arma. Alguém viu-o através do vidro e recebi o chamado. Estava a apenas cinco quarteirões de distância, num carro de patrulha. Ele estava recolhendo o dinheiro num chapéu quando cheguei. Saltei do carro, vi sua arma, saquei a minha...
Dan fez uma pausa, fechando os olhos. Estava vendo tudo novamente e o sentimento de desespero voltava, ainda mais forte.
— O garoto virou-se. Estava apavorado. A arma tremia em sua mão. Ele fez um movimento e disparei. Talvez já imagine o resto. Ele morreu ali mesmo, chorando como uma criança. A arma não estava carregada. Além disso, o cano estava tão sujo que não teria disparado em hipótese alguma. Mais tarde, descobri que o pai dele morrera atropelado, sem que jamais se descobrisse o motorista culpado.
Dan fez outra pausa, respirando fundo.
— Eram sete pessoas na família, e o garoto trabalhava do amanhecer ao anoitecer carregando caminhões. Mas não ganhava o suficiente. E quando ficou desesperado, pegou a arma e tentou blefar para cometer o assalto. Houve muitas coisas antes disso... muitas coisas mesmo, Susan. Mas essa foi a coisa que me derrubou.
Será que ela sabia? Poderia compreender o que lhe acontecera? A voz de Dan estava trêmula, mas ele forçou as palavras a saírem:
— Atingiu-me fundo, Susan. Dia a dia, meu mundo foi desmoronando. Finalmente saí guiando pelos campos. Parei o carro num isolado e saltei. Sentei, encostado numa árvore. Saquei o revólver, engatilhei, meti na boca. E quando eu estava esperando... tem de acreditar nisso, Susan... uma coisa inesperada aconteceu. Um fazendeiro que vivia ali perto apareceu, carregando uma espingarda. Parou e fitou-me por um longo tempo, depois perguntou: "Está com medo?"
Será que ela se lembraria? Será que suas primeiras palavras estavam gravadas na mente dela?
— Ele estivera na guerra, Susan... e chegara um momento em que pensara que não poderia mais agüentar. Compreendia o que eu estava fazendo porque já passara pela mesma situação... assim como também sei o que você está sentindo agora. Ele não fez nenhum sermão. Nada disso. Ele compreendia.
— Isso não tem importância. Não vou mudar de idéia.
— Tem importância para mim. Você é tudo o que importa para mim.
— Vou pular agora.
Ela estava falando sério. Era um momento crucial. Dan disse, calmamente, incisivamente:
— E eu também vou pular, junto com você.
Ela virou a cabeça, os músculos do rosto contraídos, na maior tensão.
— Como?
— Porque... e você deve compreender isso... aquele fazendeiro disse que morreria comigo, se eu puxasse o gatilho. Tomei a decisão por nós dois. — Deu um passo na direção dela, depois hesitou. — E ele estava falando sério, Susan. Se você pular... Pegarei sua mão. Mas insisto em que nenhum de nós dois pule dominado pelo terror.
— Você... não vai querer...
— Não, Susan. Consegui me recuperar. E tenho conhecido muitas alegrias desde então. Há sempre muitas alegrias.
— Não acredito que esteja falando sério.
Dan deu um passo na direção dela, com um sorriso de rendição.
— Há amor, Susan. Há tristeza. Há alegria. E sofrimento. Mas ninguém está sozinho. Suportarei a dor e o sofrimento com você. E a tristeza. Vou me regozijar com o seu amor e felicidade. O tempo que tive nos últimos oito anos foi uma dádiva, porque acreditei no fazendeiro naquele dia, assim como você acredita em mim agora. Estamos juntos nisso. Seu vínculo mais fraco com a vida é também o meu vínculo mais fraco. E minha coragem... agora... é a sua coragem.
A rua estava vazia lá em baixo. Havia silêncio enquanto Dan se aproximava dela. Estava a um instante da eternidade, colocando-se totalmente nas mãos dela. Chegou ao lado dela, mas não a tocou. Ela fitou-o nos olhos.
— Estou preparado, Susan. Sabe o que quero de você. Não tenho medo de viver. Mas também não tenho medo de morrer. Deve decidir por nós dois.
— Você pularia mesmo?
A voz dela era baixa, incrédula. Dan não respondeu. Deixou que ela percebesse em seus olhos. Deixou-a entrever aquele momento em que estivera encostado na árvore. O grande amor de que a humanidade é capaz, personificado no fazendeiro. E ela não mais duvidou dele. Dan observou-lhe os olhos. Ela não falou por mais de um minuto. E depois disse, sacudindo a cabeça lentamente:
— Por favor, ajude-me. Dan tocou-lhe os cabelos.
— Ajudarei.
Ela fitou-o atentamente e Dan percebeu que o desespero a deixava. E ele murmurou:
— No triunfo ou no desespero, você nunca mais estará outra vez sozinha.
O rosto dele sorria.
— Acho que não posso andar — disse ela, debilmente. Dan tocou-lhe a mão, gentilmente.
— Vou ajudá-la. Segure o meu braço.
Ela assentiu e Dan foi deslizando os pés pela platibanda. Ela seguiu-o, lentamente, até que chegaram à janela. Ele ajudou-a a virar-se e entrar no quarto. Entrou atrás e fechou a janela. Ela arriara numa poltrona. Dan acendeu dois cigarros e meteu um entre os dedos dela. Virou o rosto dela com a mão, até que o fitasse.
— - Vou mandá-la para o hospital. Deverá tentar evitar os repórteres. Mas é possível que eles consigam falar-lhe. Se isso acontecer... tem de compreender que não pode contar-lhes o que sabemos. Não pode revelar absolutamente nada.
— Está certo.
— Estarei em contato com você. Freqüentemente. — Dan passou os dedos pelo rosto dela. — Não gostaria de conhecer o fazendeiro?
Ela assentiu.
— Somos sete, no total. Oito agora, Susan. E nos encontramos duas vezes por ano. A partir do momento em que a decisão foi tomada, nunca mais faltamos um ao outro. Dependemos um do outro. Dependemos de você agora.
Soaram passos lá fora. Dan olhou para a porta.
— Está pronta?
— Você assumiu um risco terrível — balbuciou ela, os lábios trêmulos.
Dan não respondeu imediatamente. Foi primeiro até a porta e fez sinal para que os atendentes da ambulância trouxessem a maca. Só depois é que disse:
— Porque eu não podia deixar de fazê-lo.
Quando os atendentes estavam prontos para levá-la, Dan inclinou-se e beijou-a no canto da boca. E depois ela se foi.
Dan Kellogg ficou sozinho, sentindo-se profundamente grato. Pela coragem e dignidade que ela encontrara em si mesma. Pela dádiva que ela ainda não sabia que concedera. Ele se lembrava do sol a esquentar-lhe o corpo à beira do lago. E do riso. Lembrava-se da canção a animar seu coração, quando o amor estava perdido. E da tristeza.
Dan Kellogg apagou o cigarro e saiu lentamente do apartamento
Contos contados por Hitchcock
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















