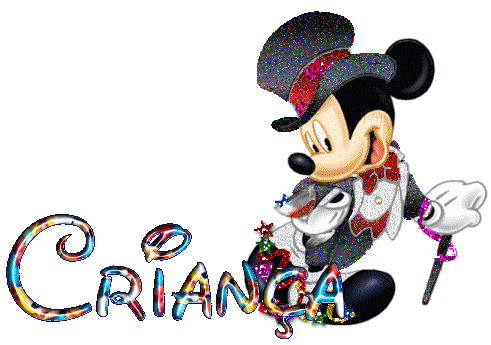Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




O CEMITÉRIO DOS VIVOS
1ª parte – Anotações para O CEMITÉRIO DOS VIVOS
1920
4 de Janeiro
O Pavilhão e a Pinel
Estou no Hospício ou, melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia.
Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive me deram essa peça do vestuário que me é hoje indispensável. Desta vez, não. O enfermeiro antigo era humano e bom; o atual é um português (o outro o era) arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e, logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria.
Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura: deliro.
Além dessa primeira vez que estive no hospício, fui atingido por crise idêntica, em Ouro Fino, e levado para a Santa Casa de lá, em 1916; em 1917, recolheram-me ao Hospital Central do Exército, pela mesma razão; agora, volto ao hospício.
Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez; senão, saio dele para o São João Batista, que é próximo. Estou incomodando muito os outros, inclusive os meus parentes. Não é justo que tal continue. Quanto aos meus amigos, nenhum apareceu, senão o senhor Carlos Ventura e o sobrinho.
Este senhor Carlos Ventura é um velho homem, tem uma venda na Rua Piauí, em Todos os Santos, fornece para a nossa casa, e foi com auxílio dele que me conseguiram laçar e trazer-me até ao hospício. Acompanharam-me o Alípio e o Jorge.
Passei a noite de 25 no pavilhão, dormindo muito bem, pois a de 24 tinha passado em claro, errando pelos subúrbios, em pleno delírio.
Amanheci, tomei café e pão e fui à presença de um médico, que me disseram chamar-se Adauto. Tratou-me ele com indiferença, fez-me perguntas e deu a entender que, por ele, me punha na rua.
Voltei para o pátio. Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru, no meio de muitos outros, pastoreado por um bom português, que tinha um ar rude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me conhecia da outra vez. Chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para a casa-forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Quando baldeei, chorei; mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria.
Ah! A Literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela.
Desta vez, não me fizeram baldear a varanda, nem outro serviço. Já tinha pago o tributo... Fui para o pátio, após o doutor Adauto; mas, bem depressa, fui chamado à varanda de novo. Sentei-me ao lado de um preto moço, tipo completo do espécimen mais humilde da nossa sociedade. Vestia umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa cujas mangas me ficavam por dois terços do antebraço e calçava uns chinelos muito sujos, que tinha descoberto no porão da varanda.
Tinha que ser examinado pelo Henrique Roxo. Há quatro anos, nós nos conhecemos. É bem curioso esse Roxo. Ele me parece inteligente, estudioso, honesto; mas não sei por que não simpatizo com ele. Ele me parece desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando inteiramente toda a outra atividade intelectual que não a sua e pouco capaz de examinar o fato por si. Acho-o muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério – que mistério! – que há na especialidade que professa. Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez; mas não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia; mas nada me atrai a ele.
Perguntou-me por meu pai e eu lhe dei informações. Depois, disse-lhe que tinha sido posto ali por meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência e a crendice do hospício. Creio que ele não gostou.
Acompanhava-o uma espécie de interno, que tinha uma cara bovina, apesar do pince-nez. Tanto lá, como aqui, no hospício, os internos evitam conversar com os doentes: morgue ou regulamento? No tempo de meu pai não era assim e, desde que eles descobrissem um doente em nossa casa, se aproximavam e conversavam.
Decididamente, a mocidade acadêmica, de que fiz parte, cada vez mais fica mais presunçosa e oca.
Julguei, apesar de tudo, que o Roxo me mandasse embora, tanto assim que, após o almoço-jantar, quando o tal bragança enfermeiro me chamou, pensei que fosse para ir-me embora. Não foi.
Lembro-me agora de um fato; o guarda-civil, que me esperou na porta do hospício, pois não veio comigo nenhum polícia, dirigindo-se a ele, tratou-o mais de uma vez de doutor; ele, porém, nunca protestou.
Chamou-me o bragantino e levou-me pelos corredores e pátios até ao hospício propriamente. Aí é que percebi que ficava e onde, na seção, na de indigentes, aquela em que a imagem do que a Desgraça pode sobre a vida dos homens é mais formidável.
O mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer monopólio, os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos, são os negros roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdida; são copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela geena social.
Vi lá o D... L..., um poeta alegre, companheiro do Tapajós, que conheci assim, assim e depois montou um colégio em Vila Isabel. Parece-me que ele prosperou, mas, vindo a equiparação e não tendo ele recursos para equipará-lo ao ginásio (depósito de cinqüenta contos e quota de fiscalização), foi perdendo a freqüência, ele se desgostou, endividou-se e enlouqueceu. Cumprimentou-me, mas não quis falar comigo.
Esperei o médico. Era um doutor Airosa, creio eu ser esse o nome, interrogou-me, respondi-lhe com toda a verdade, e ele não me pareceu mau rapaz, mas sorriu enigmaticamente, ou, como dizendo: "você fica mesmo aí" ou querendo exprimir que os meus méritos literários nada valiam, naturalmente à vista das burrices do Aluísio. Fosse uma coisa, fosse outra, fossem ambas conjuntamente, não me agastei. Ele era muito moço; na sua idade, no caso dele, eu talvez pensasse da mesma forma.
O enfermeiro-mor ou inspetor era o Santana.Um mulato forte, simpático, olhos firmes, um pouco desconfiados, rosto oval, que foi muito bom para mim. Ele fora empregado na ilha, quando meu pai lá era almoxarife ou administrador, e se lembrava dele com amizade.
Deu-me uma cama, numa seção mais razoável, arranjou que eu comesse com os pensionistas de quarta classe e, no dia seguinte, fez-me dormir num quarto, com um estudante de medicina, Queirós, que um ataque tornara hemiplégico e meio aluado.
Tratou-me bem esse moço, conquanto não deixasse de ter, como eu já tive, essa presunção infantil do nosso estudante, que se julga, só por sê-lo, diferente dos outros. Dei-lhe a entender que já o havia sido; ele pareceu não acreditar.
Dormi a noite de 26 no dormitório geral e a de 27 no quarto do estudante. Vinte e oito foi domingo, recebi visitas do meu irmão e do senhor Ventura, ambos me trouxeram cigarros, e o senhor Ventura, passas e figos. Ainda desta vez, dormi no quarto, com o estudante.
Na Seção Pinel, que é a de que estou falando, reatei conhecimento com um rapaz português, que me conheceu quando era estudante e comia na pensão do Ferraz, isto deve ter sido há vinte anos ou mais. Durante os dias em que lá estive, ele, o José Pinto, me foi de um préstimo inesquecível. Relembrava ao porteiro a ordem que eu tinha do Santana de ir tomar refeições no refeitório especial, arranjava-me jornais (Santana também), cigarros (contarei essa tragédia manicomial em separado) e, na tarde de domingo, levou-me a passear pela chácara do hospício.É muito grande e, apesar de estiolada e maltratada, a sua arborização devia ter sido maravilhosa. Os ricos de hoje não gostam de árvores...
O hospício é bem construído e, pelo tempo em que o edificaram, com bem acentuados cuidados higiênicos. As salas são claras, os quartos amplos, de acordo com a sua capacidade e destino, tudo bem arejado, com o ar azul dessa linda enseada de Botafogo que nos consola na sua imarcescível beleza, quando a olhamos levemente enrugada pelo terral, através das grades do manicômio, quando amanhecemos lembrando que não sabemos sonhar mais... Lá entra por ela adentro uma falua, com velas enfunadas e sem violentar; e na rua embaixo passam moças em traje de banho, com as suas bacias a desenharem-se nítidas no calção, até agora inúteis.
Na segunda-feira, antes que meu irmão viesse, fui à presença do doutor Juliano Moreira. Tratou-me com grande ternura, paternalmente, não me admoestou, fez-me sentar a seu lado e perguntou-me onde queria ficar. Disse-lhe que na Seção Calmeil. Deu ordens ao Santana e, em breve, lá estava eu.
Paro aqui, pois me canso; mas não posso deixar de consignar a singular mania que têm os doidos, principalmente os de baixa extração, de andarem nus. Na Pinel, dez por cento assim viviam, num pátio que era uma bolgia do inferno. Por que será?
II
Na Calmeil
Os Primeiros Dias
(de 29-12-19 a 4-1-20)
Eu entrei na Seção Calmeil, seção dos pensionistas, na segunda-feira, 28 de dezembro. O inspetor da seção é um velho português de perto de sessenta anos, que me conhece desde os nove. Ele foi em 90, com meu pai, nomeado escriturário das colônias da ilha do Governador, exerceu as funções de enfermeiro-mor da Colônia Conde de Mesquita. As suas funções eram árduas, porquanto, ficando ela a dois quilômetros e meio da sede da administração, ele arcava com toda a responsabilidade de governar uma centena de loucos, numa colônia aberta para um grande campo, cheio de vetustas mangueiras, a que o raio e o tempo tinham desmanchado os maravilhosos quadriláteros, um dentro do outro, formando uma alameda quadrangular, que devia ser soberba quando intacta, aí pelos tempos de Dom João VI, que a conheceu, pois o edifício principal dela tinha sido uma das muitas casas de recreio que o bom e gordo rei tinha pelos arredores do Rio.
Ainda vi um curral de pedra, que mais parecia uma fortaleza, e um enorme pombal, alicerçado em pedra, mas construído de tijolos enormes e bem queimados, com as casuchas e pouso de entrada dos pombos feitos de um ladrilho grande, quase quadrangular, que certamente eram, ladrilhos e tijolos, de origem portuguesa.
Na ilha não havia pedra, a não ser granito em franca decomposição, esfoliando, de modo que curral e pombal foram pedreiras que forneceram material para reparos e acréscimos nos edifícios das duas colônias.
Dias, desde esse tempo, e parece que já mesmo antes, nunca largou esse ofício de pajear malucos. Não é dos mais agradáveis e é preciso, além de paciência e resignação para aturá-los, uma abdicação de tudo aquilo que faz o encanto da vida de todo o homem. É ele, por assim dizer, obrigado a viver no manicômio, só podendo ir ter com a família, ou o que com isso se parece, a longos intervalos, demorando-se pouco no lar. Ouvir durante o dia e a noite toda a sorte de disparates, receber as reclamações mais desarrazoadas e infantis, adivinhar as manhas, os seus trucs e dissimulações – tudo isto e mais o que se pode facilmente adivinhar, transforma a vida desses guardas, enfermeiros, num verdadeiro sacerdócio.
Estive mais de uma vez no hospício, passei por diversas seções e eu posso dizer que me admirei que homens rústicos, os portugueses, mal saídos da gleba do Minho, os brasileiros, da mais humilde extração urbana, pudessem ter tanta resignação, tanta delicadeza relativa, para suportar os loucos e as suas manias. Nem todos são insuportáveis; na maioria, são obedientes e dóceis; mas os poucos rebeldes e aqueles que se enfurecem, de quando em quando, são por vezes de fazer um homem perder a cabeça. Tratarei deles mais minuciosamente. Pois o meu Dias, apesar dos gritos, dos gestos de mando, é um homem talhado para pastorear doidos, tanto ele como Santana, cuja seção é mais trabalhosa, mas que eu deixei, não porque ele não me tratasse bem, o que ele me fez espontaneamente, mas para ter às ordens a biblioteca da Seção Calmeil, que eu descreverei devagar.
Outra coisa que me fez arrepiar de medo na Seção Pinel foi o alienista. Se entre nós, no Rio, houvesse uma universidade, eu poderia dizer que ele havia sido meu colega, porquanto, quando ele freqüentava a Escola de Medicina, eu passeava pelos corredores da Escola Politécnica.
Nunca travamos relações, mas nós nos conhecíamos. Ele, porém, não se deu a conhecer e eu, no estado de humilhação em que estava, não devia ser o primeiro a me dar a conhecer.
Não lhe tenho nenhuma antipatia, mas julgo-o mais nevrosado e avoado do que eu. É capaz de ler qualquer novidade de cirurgia aplicada à psiquiatria em uma revista norueguesa e aplicar, sem nenhuma reflexão preliminar, num doente qualquer. É muito amante de novidades, do vient de paraitre, das últimas criações científicas ou que outro nome tenham.
Dei-me muito com o irmão, cuja morte muito lamento; mas não posso deixar de dizer essa minha inocente opinião que, talvez, possa parecer maldosa. Garanto que não é.
Logo ao entrar na seção, no meado do dia da segunda-feira, notei que a biblioteca tinha mudado de lugar. Mudei a roupa, pois meu irmão me apareceu com outra de casa. Esperei o Dias, que me marcasse o dormitório, e sentei-me na biblioteca e estava completamente desfalcada! Não havia mais o Vapereau, Dicionário das Literaturas; dois romances de Dostoiévski, creio que Les Possédés, Les Humilliés et Offensés; um livro de Mello Morais, Festas e Tradições Populares do Brasil. O estudo sobre Colbert estava desfalcado do primeiro volume; a História de Portugal, de Rebelo da Silva também, e assim por diante. Havia, porém, em duplicado, a famosa Biblioteca Internacional de Obras Célebres.
Olhei as fisionomias e, tanto aqui, como na outra seção, eu me surpreendi de encontrar tantas fisionomias vagamente conhecidas. Umas me pareciam de antigos colegas de colégio, de escola superior, de repartição, do Exército, de cafés, de festas; mas não me animava a falar-lhes, pois me olhavam com ar estúpido e parado, que eu detinha o primeiro impulso de perguntar a cada um:
– O senhor não me conhece?
O engraçado é que aqueles que eu não conhecia prontamente, é que vinham a mim falar-me; e não veio um só, vieram muitos, e todos me trataram com afeto e respeito, conquanto me caceteassem, lendo o que eu escrevia ou lia, querendo o meu jornal, pedindo-me cigarros, não me deixando de todo sossegar e aproveitar esse descanso que o álcool e as apreensões da minha atribulada vida me dão.
No dia seguinte à minha entrada na seção e no outro imediato, fui à presença do médico. É um rapaz do meu tempo e deve ter a minha idade; conheci-o estudante; ele, porém, não me conheceu por esse tempo.
Nos nossos jornalecos troçamo-lo muito. Eu, porém, não me lembro de qualquer pilhéria a seu respeito feita por mim. Ele me tratou muito bem, auscultou-me, disse-lhe tudo o que sabia das conseqüências do meu alcoolismo e eu saí do exame muito satisfeito por ter visto no moço uma boa criatura, que não guardava rancor das troças que ele bem podia atribuir a mim.
Era uma alma boa, em quem o dandismo era mais uma aquisição que uma manifestação de superficialidade de alma e inteligência.
Não me achou muito arruinado e, muito polidamente, deu-me conselhos, para reagir contra o meu vício. Oh! meu Deus! Como eu tenho feito o possível para extirpá-lo e, parecendo-me que todas as dificuldades de dinheiro que sofro são devidas a ele, e por sofrê-las, é que vou à bebida. Parece uma contradição; é, porém, o que se passa em mim. Eu queria um grande choque moral, pois físico já os tenho sofrido, semimorais, como toda a espécie de humilhações também. Se foi o choque moral da loucura progressiva de meu pai, do sentimento de não poder ter a liberdade de realizar o ideal que tinha na vida, que me levou a ela, só um outro bem forte, mas agradável, que abrisse outras perspectivas na vida, talvez me tirasse dessa imunda bebida que, além de me fazer porco, me faz burro.
Não quero morrer, não; quero outra vida.
Não lhe disse isto ao doutor H., mas lhe quis dizer. Tenho que falar dos doentes em cuja companhia estou, dos guardas, dos enfermeiros, mas preciso tratar com mais detalhe e já me cansa o escrever estas notas.
Cá estou na Seção Calmeil há oito dias. Raro é o seu hóspede com quem se pode travar uma palestra sem jogar o disparate. Ressinto-me muito disto, pois gosto de conversar e pilheriar; e sei conversar com toda a gente, mas, com esses que deliram, outros a quem a moléstia faz tatibitate, outros que se fizeram mudos e não há nada que os faça falar, outros que interpretam as nossas palavras de um modo inesperado e hostil, o melhor é calar-se, pouco dizer, mergulhar na leitura, no cigarro, que é a paixão, a mania de todos nós, internados, e o possuí-los em abundância é um perigo que se corre e só pode ser evitado pela astúcia ou pela energia.
Falarei disso com mais vagar.
Estou entre mais de uma centena de homens, entre os quais passo como um ser estranho. Não será bem isso, pois vejo bem que são meus semelhantes. Eu passo e perpasso por eles como um ser vivente entre sombras – mas que sombras, que espíritos?! As que cercavam Dante tinham em comum o stock de idéias indispensável para compreendê-lo; estas não têm mais um para me compreender, parecendo que têm um outro diferente, se tiverem algum.
III
A Minha Bebedeira e a Minha Loucura
Ao pegar agora no lápis para explicar bem estas notas que vou escrevendo no hospício, cercado de delirantes cujos delírios mal compreendo, nessa incoerência verbal de manicômio, em que um diz isto, outro diz aquilo, e que, parecendo conversarem, as idéias e o sentido das frases de cada um dos interlocutores vão cada qual para o seu lado, eu me lembro muito bem que um amigo de minha família, médico ele mesmo de loucos, me deu, logo ao adoecer meu pai, o livro de Maudsley, O Crime e a Loucura. A obra me impressionou muito e de há muito premedito repetir-lhe a leitura. Saído dela, escrevi um decálogo para o governo da minha vida; entre os seus artigos havia o mandamento de não beber alcoólicos, coisa aconselhada por Maudsley, para evitar a loucura. Nunca o cumpri e fiz mal. Muitas causas influíram para que viesse a beber; mas, de todas elas, foi um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem explicação, de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo; previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos; amedrontava-me com uma demissão e eu sem fortes conhecimentos que me arranjassem colocação condigna com a minha instrução; e eu me aborrecia e procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro; e assim conheci o chopp, o whisky, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele.
A minha casa me aborrecia, tão triste era ela! Meu pai delirava, queixava-se, resmungava, com tal ar que me parecia [ .... ]. Eu me agastava, tanto mais que ele não tinha razão alguma. A não ser na ilha do Governador, plena roça, por aquelas épocas, cujas vantagens de moradia são fáceis de adivinhar, eu não me lembrava de ter morado em melhor casa e ter comido melhor; mas ele resmungava.
De resto, tinha horror à vizinhança e, por isto e pelo que disse mais acima, procurei sempre entrar em casa ao anoitecer, quando todos estavam recolhidos. Era rematada tolice, porquanto eu saía para a repartição dia claro e à vista de todos. Coisas de maluco...
No começo, havia dinheiro na bolsa de todos e o parati entrava como mera extravagância. O forte era cerveja; mas, bem depressa, com a fuga inexplicável do dinheiro das nossas algibeiras, a cachaça ficou sendo o nosso forte; e eu a bebia desbragadamente, a ponto de estar completamente bêbedo às nove ou dez horas da noite.
O aparecimento do meu primeiro livro não me deu grande satisfação. Esperava que o atacassem, que me descompusessem e eu, por isso, tendo o dever de revidar, cobraria novas forças; mas tal não se deu; calaram-se uns e os que dele trataram o elogiaram. É inútil dizer que nada pedi.
A minha dor ou as minhas dores aumentavam ainda; e, cheio de dívidas, sem saber como pagá-las, o J. M. aconselhou-me que escrevesse um livro e o levasse para ser publicado no Jornal do Commercio.
Assim o fiz. Pus-me em casa dois meses e escrevi o livro. Saiu na edição da tarde e ninguém o leu, e só veio a fazer sucesso, para mim inesperado, quando o publiquei em livro. Desalentado e desanimado, sentindo que eu não podia dar nenhuma satisfação àqueles que me instruíram tão generosamente, nem mesmo formando-me, não tendo nenhuma ambição política, administrativa, via escapar-se por falta de habilidade, de macieza, a única coisa que me alentava na vida – o amor das letras, da glória, do nome, por ele só.
Eu me senti capaz de fazer, mas de antemão sabia que não encontraria em parte alguma quem me imprimisse e tinha a íntima certeza de que não encontraria dinheiro com que me fosse possível editar o meu trabalho, especialmente o Gonzaga de Sá.
Bebi cada vez mais, e, dentre muitas aventuras, algumas humilhantes, e não foram as mais o parar duas ou três vezes nas delegacias de polícia, aconteceu-me uma, que se cerca de um mistério que até hoje não pude desvendar. Conto. Uma noite, às últimas horas, muito bêbedo, pedi a V. que me levasse ao bonde, que passava na Rua Sete de Setembro. Esperei no poste, em frente ao canil, o veículo e, de repente, focinhei no chão. V., que já morreu e era muito mais forte do que eu, levantou-me, equilibrou-me e pôs-me de pé. De repente, veio uma rapariga preta, surgida não sei de onde, que perguntou a V. (foi ele que me contou):
– A patroa manda perguntar o que tem o doutor L.
V. respondeu: – O doutor L. está um pouco incomodado, devido a ter se excedido um pouco. Não é nada.
A rapariga foi-se e logo após voltou:
– A patroa manda este remédio para o senhor fazer que o doutor L. cheire. Ela manda também que o senhor acompanhe o doutor L. até em casa, com todo o cuidado.
Era um vidro de amônia que, ainda, vazio, guardo em casa. Quem foi essa boa alma? Quem é essa "patroa"? Não sei e creio que não saberei nunca. Ficam aqui, porém, os meus ternos agradecimentos. As minhas dores e as minhas dificuldades, também.
Não me preocupava com o meu corpo. Deixava crescer o cabelo, a barba, não me banhava a miúdo. Todo o dinheiro que apanhava bebia. Delirava de desespero e desesperança; eu não obteria nada.
Outras muitas me aconteceram, mas são banais a todos os bebedores. Dormi em capinzais, fiquei sem chapéu, roubaram-me mais de uma vez quantias vultuosas. Um dia, furtaram-me cerca de quinhentos mil-réis e eu amanheci sentado a uma soleira, na Praça da Bandeira, com mil-réis no bolso, que, creio, me deixaram por comiseração os que me roubaram.
Tenho vergonha de contar algumas dessas aventuras, em que felizmente ainda me deixaram com roupa. Elas seriam pitorescas, mas não influiriam para o que tenho em vista.
Resvalava para a embriaguez inveterada, faltava à repartição semanas e meses. Se não ia ao centro da cidade, bebia pelos arredores de minha casa, desbragadamente. Embriagava-me antes do almoço, depois do almoço, até ao jantar, depois deste até à hora de dormir.
Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao hipersensível; nunca, por mais que quisesse, pude ter uma concepção mecânica, rígida do Universo e de nós mesmos. No último, no fim do homem e do mundo, há mistério e eu creio nele. Todas as prosápias sabichonas, todas as sentenças formais dos materialistas, e mesmo dos que não são, sobre as certezas da ciência, me fazem sorrir e, creio que este meu sorriso não é falso, nem precipitado, ele me vem de longas meditações e de alanceantes dúvidas.
Cheio de mistério e cercado de mistério, talvez as alucinações que tive, as pessoas conspícuas e sem tara possam atribuí-las à herança, ao álcool, a outro qualquer fator ao alcance da mão. Prefiro ir mais longe...
Certo dia, a minha alucinação foi tão forte, que resolveram levar-me para a casa de um parente, para ver se melhorava; foi pior. Mandaram-me para o hospício. No mesmo dia que lá cheguei, no pavilhão, nada sofri. Assim não foi no Hospital Central, nem na Santa Casa, de Ouro Fino, onde as visões continuaram, no hospital por mais de vinte e quatro horas e, em Ouro Fino, unicamente na noite da entrada.
Agora, que creio ser a última ou a penúltima, porque daqui não sairei vivo, se entrar outra vez, penetrei no pavilhão calmo, tranqüilo, sem nenhum sintoma de loucura, embora toda a noite tivesse andado pelos subúrbios sem dinheiro, a procurar uma delegacia, a fim de queixar-me ao delegado das coisas mais fantásticas dessa vida, vendo as coisas mais fantásticas que se possa imaginar.
No começo, eu gritava, gesticulava, insultava, descompunha; dessa forma, vi-as familiarmente, como a coisa mais natural deste mundo. Só a minha agitação, uma frase ou outra desconexa, um gesto sem explicação denunciavam que eu não estava na minha razão.
O que há em mim, meu Deus? Loucura? Quem sabe lá?
IV
Alguns Doentes
Que dizerda loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos; há loucos só.
Há os que deliram; há os que se concentram num mutismo absoluto. Há também os que a moléstia mental faz perder a fala ou quase isso. Quando menino, muito vi loucos e, quando estudante, muito conversei com os outros que essas coisas de sandice estudavam sobre eles, mas, pela observação direta e pelo que li e ouvi dos entendidos, percebi bem a perplexidade deles em face de tão angustioso problema da nossa natureza.
Há uma nomenclatura, uma terminologia, segundo este, segundo aquele; há descrições pacientes de tais casos, revelando pacientes observações, mas uma explicação da loucura não há. Procuram os antecedentes do indivíduo, mas nós temos milhões deles e, se nos fosse possível conhecê-los todos, ou melhor, ter memória dos seus vícios e hábitos, é bem certo que, nessa população que cada um de nós resume, havia de haver loucos, viciosos, degenerados de toda a sorte.
De resto, quase nunca os filhos dos loucos são gerados quando eles são loucos; os filhos de alcoólicos, da mesma forma, não o são quando seus pais chegam ao estado agudo do vício e, pelo tempo da geração, bebem como todo o mundo.
Todas essas explicações da origem da loucura me parecem absolutamente pueris. Todo o problema de origem é sempre insolúvel; mas não queria já que determinassem a origem, ou explicação; mas que tratassem e curassem as mais simples formas. Até hoje, tudo tem sido em vão, tudo tem sido experimentado; e os doutores mundanos ainda gritam nas salas diante das moças embasbacadas, mostrando os colos e os brilhantes, que a ciência tudo pode.
Se a estátua de Isis lá estivesse, havia de cerrar mais o véu impenetrável que cobre o seu rosto. Essa questão do álcool, que me atinge, pois bebi muito e, como toda a gente, tenho que atribuir as minhas crises de loucura a ele, embora sabendo bem que ele não é o fator principal, acode-me refletir por que razão os médicos não encontram no amor, desde o mais baixo, mais carnal, até a sua forma mais elevada, desdobrando-se num verdadeiro misticismo, numa divinização do objeto amado; por que – pergunto eu – não é fator de loucura também?
Por que a riqueza, base da nossa atividade, coisa que, desde menino, nos dizem ser o objeto da vida, da nossa atividade na terra, não é também a causa da loucura?
Por que as posições, os títulos, coisas também que o ensino quase tem por meritório obter, não é causa de loucura?
Há um doente aqui, F. P., em que eu vejo misturados o amor e a presunção de inteligência e de saber. É o mais bulhento e rixento da casa. Desde as cinco horas da manhã até às sete ou oito da noite, ri, vive a gritar, a berrar, proferindo as mais sórdidas pornografias. Compra barulho com doentes e guardas, descompõe-nos, como já disse; mas, dentro em pouco, está ele abraçado com aqueles mesmos com que brigou há horas, há dias.
Há muita coisa de infantil nas suas atitudes, nas suas manias de amor, na estultice de se julgar com grande talento e saber, de provir de uma raça nobre ou parecida. Diz-se descendente de um revolucionário pernambucano, em sexta geração, e que foi fuzilado.
Vi-lhe a letra e uma carta que escreveu a uma pessoa da família. A letra é positivamente de tolo, graúda e redonda. Tem sempre na boca a palavra formidável: meu talento é formidável; tenho uma força formidável; o poder de Deus é formidável; H. é um general formidável. A sua prosápia de educação, de homem fino e de sala, não impede que, por dá cá aquela palha, empregue os termos mais chulos e porcos. Uma hora diz do médico, do chefe da seção, dos companheiros e amigos os maiores elogios; daqui a pouco, está a descompô-los com os seus termos habituais.
Fila os jornais do médico, mas só para tê-los embaixo do braço, pois não os lê e nota-se mesmo em todos os seus atos, gestos e palavras, uma falta de seriação, uma instabilidade mental, mais fácil de perceber, quando se lhe expõe qualquer coisa, do que quando ele pretende narrar um fato ou contar uma anedota. O orgulho dele, além do pai, que é totalmente desconhecido, está nos irmãos, formados nisso e naquilo; entretanto, não o pai, mas estes últimos não escapam da sua língua nas horas de fúria. Tem a acompanhá-lo um guarda particular, que faz pena vê-lo sofrer com ele. A toda a hora e a todo instante, além de outros insultos, está a pôr-lhe na cara que ele ganha sessenta mil-réis para servi-lo.
O velho quer despedir-se, mas, ao que parece, ele precisa muito dessa miséria de ordenado. Não é lá muito velho, mas sofre já de decrepitude. Foi guarda-civil, guarda do hospício e, nesse seu último quartel da vida, para ter com o que viver, tem de aturar o mais insuportável louco que eu tenho conhecido na minha longa convivência com loucos. Mania de grandeza, delírio de saber, de família, de valentia e coragem, uma agitação que não o faz dormir, nem deixa o seu guarda dormir, tudo nela concorre para fazê-lo, nesta sombria cidade de lunáticos, uma espécie à parte, e supliciar os que são encarregados de sua vigilância.
Não me gabo, mas, com ele e muitos outros, tem-se dado um fato muito interessante: eu lhes inspiro simpatia. Quando estive na enfermaria preliminar, ao amanhecer do dia seguinte, mandei comprar um jornal e pus-me a ler no pátio. Um doente recomendado, que lá havia – um velho nortista, moreno carregado, feições regulares, a não ser os malares salientes – sentou-se ao meu lado e quis ler de sociedade comigo o jornal. Disse-lhe que não era conveniente lermos juntos; que ele esperasse, eu lhe daria o jornal. Ouvindo isto, ele levantou-se amuado e amuado me disse:
– Mesmo mostra que você é maluco.
Ele foi transferido para o hospício e, quando deu comigo, disse-me que tivera notícias que eu era do jornal, e procurara-me para conversar; mas que eu já me tinha vindo embora. Tratou-me com uma distinção extraordinária, fez-se meu amigo, pediu-me obséquios, deu-me conselhos e prometeu-me este mundo e outro.
É um louco clássico, com delírio de perseguição e grandeza. É um homem inteligente, mas com cultura elementar, e o seu delírio, desde que não se o interrogue pela base, parece à primeira vista a mais pura verdade. No começo, ele me enganou; e julguei certo tudo o que dizia, mas, por fim, ele me revelou toda a sua psicose. Por me parecer interessante, eu vou reproduzir as histórias que ele me contou, procurando não quebrar a lógica mórbida com a qual as articulava. Ele é de Sergipe e chama-se V. de O.
Quando encontrei V. de O., no corredor do hospício, e ele me falou de forma diferente de todos os outros, como se conhecesse de fato, houvesse lido alguma coisa minha, enumerou-me os seus títulos e trabalhos, dizendo-me até que trabalhara em um jornal de Minas com o Senhor Augusto de Lima, a minha satisfação foi grande. Demais, recitou-me versos dele e, conquanto eles nada valessem, esperei encontrar nele um sujeito lido que, por isso ou aquilo tenha caído ali, eu podia conversar, por ser da minha raça mental.
Nesta seção, como na outra em que estive, não faltam sujeitos que tenham recebido certa instrução; há até os formados. Eu não tenho nenhuma espécie de superstição pelos nossos títulos escolares ou universitários; eles dão algumas vezes algum saber profissional, muito restrito e ronceiro, e nunca uma verdadeira cultura; mas, em todo o caso, a convivência nas escolas com rapazes de inteligência mais aguda, mais curiosos de saber e conhecer a atividade mental indígena ou estrangeira, dá a alguns uma tintura das altas coisas que, nesta minha solidão intelectual, num meio delirante, seria um achado encontrar um.
Coisa curiosa, entretanto, os formados nisto ou naquilo, que me apontam aqui, quase todos eles são possuídos de uma mania depressiva que lhes tira não só a enfatuação doutoral, como também se votam, em geral, a um silêncio perpétuo. Mostraram-me vários, e todos eles eram de um mutismo absoluto. Contudo, um deles, bacharel, o mais mudo de todos, na sua insânia, não se esquecera do anel simbólico e, com um pedaço de arame e uma rodela não sei de que, improvisara um, que ele punha à vista de todos, como se fosse de esmeralda.
Havia um outro, que diziam ser engenheiro; este guardava uma certa presunção do "anelado" brasileiro. Sentava-se perto de mim e sempre atirava com maus modos o seu prato servido para cima do meu. Andava sempre com um ponche, parecia ser isso um hábito de viajante. O seu orgulho não parecia vir do título, mas de um sentimento desmedido da sua aptidão para endireitar a pátria. Soltava frases soltas como esta:
– Que podem estes broncos de empregados conhecer das necessidades do Brasil?
Ou senão:
– O presidente deve vir aqui para conferenciar comigo.
Às vezes, na janela, através da grade, gritava para os bondes, a passar:
– Digam ao doutor E. (o presidente) que não aceite alianças, que só podem perder o Brasil.
Os outros formados nada diziam, ou balbuciavam coisas ininteligíveis.
Vendo aquele homem, que se dizia ter sido estudante do quarto ano de medicina, engenheiro agrônomo, agrimensor, jornalista e fazia versos, é de imaginar que prazer não foi o meu em encontrá-lo e como eu me esqueci da pequena mágoa, que seu mau humor me causou no pavilhão. Mas estava escrito que eu não poderia, no meio de cento e tantos insanos, encontrar um com quem trocasse uma palavra.
Os leitores hão de dizer que não era possível encontrar isso numa casa de loucos. É um engano; há muitas formas de loucura e algumas permitem aos doentes momentos de verdadeira e completa lucidez.
No salão, há um bilhar, e eu admirava que um rapaz, O., que passava o dia inteiro a cantarolar pornografias, em que misturava reminiscências de família, jogasse com consciência bilhar com um outro, que era dos médicos surdos a que me referi. Tinham ambos "conta", conheciam os efeitos, e naquele momento o delírio ou a loucura cessava.
Dá-se o mesmo com a instrução, a educação. A loucura dá intervalos. Eu vi um rapazote, de vinte e poucos anos, explicar aritmética a um outro, divisibilidade, e pelo que me lembro estava certo tudo o que ele expunha. Não me quis aproximar, para não parecer importuno, mas pelo que ouvi ao longe nada tenho a atribuir como erro. Entretanto, ele vivia delirando.
Mas o doutor V. de O. foi um desapontamento. Contarei tudo, porque é interessante contar. Já disse como ele travou relações comigo. Disse-me que precisava de mim para uns serviços na imprensa. Pus-me logo às suas ordens, e ele me explicou que vinha sendo perseguido por um complot que tinha até conseguido desmoralizá-lo pelos jornais. A alma dessa conspiração contra ele era a mulher, atiçada pela sogra. Casara-se, depois de ser amante, e ela, no fim de cinco meses, abandonou o lar, levando tudo que nele havia, propondo em juízo uma ação de nulidade de casamento.
A sua causa era advogada por certo advogado que era seu amante e deputado pela Bahia; ele, porém, tinha quatro advogados. Fora sua mulher que conseguira a sua internação no hospício, dizendo à polícia que ele andava aluado e armado para matá-la. Fora preso com um revólver na mão, e, sem mais nem menos, constituíra advogado, ou melhor, advogados. Tinha quatro, mas depois disse-me que eram dois.
Havia, no correr da sua exposição, muitas contradições e exageros. Ele, em começo, me dissera que fora o seu advogado que se interessara por ele para ser tratado com certa deferência no pavilhão. Depois me dissera que o seu patrono se queixava de estar gastando dinheiro em bondes, que não tinha dinheiro.
Há, em muita coisa, um fundo de verdade, mas a exaltação da sua personalidade, a grande conta em que ele tem dos seus talentos, ora de médico, ora de dentista, ora de engenheiro, o seu delírio de grandeza monetária, soa, na verdade que se sente em algumas de suas palavras, como uma nota falsa. A mãe é rica, acaba de receber dois mil contos, os irmãos, cada um tem dois mil contos, etc. etc. Ele mesmo tem tido muito dinheiro e tem dado. Promete-me mundos e fundos. Pijamas de seda, passeios a Petrópolis, dinheiro – a gruta de Ali-Babá. É exigente de roupas, que as tem possuído de primeira qualidade – tudo bom e fino, vindo do estrangeiro para ele. Tem uma demanda com a administração, por causa de uns suspensórios que lhe custaram dezoito mil-réis. Em toda a sua narração de passeios, etc., não se esquece nunca de dizer o preço do custo das coisas. Apesar de sua prosápia sabichona, é de uma ignorância crassa. Erra na ortografia como uma criança de colégio e a sintaxe é um Deus nos acuda. Obriga-me a rever os seus escritos. Fala com ênfase, entre os dentes, sibila e tem a risada do João Barreto. Não sabe onde fica Blumenau e quis me convencer que os ladrilhos do vestíbulo do hospício eram mármore que vinha antigamente da Itália, e me explicou uma coisa fantástica de fornos, em que o mármore era transformado em ladrilhos. A sua pretensão intelectual é uma coisa comum à gente de Sergipe e o enlouqueceu, ao que parece.
Não tem a mínima noção de ciências naturais e das suas aplicações. Não diz minerais de um país, diz a sua mineralogia. É um caso curioso, com algum parentesco com o do F. P., mas mais seguro do que este no seu delírio de grandeza intelectual e de fortuna, que F. P. não tem, mas em compensação tem o de força e de amor, e de fêmea, que V. O. também tem.
Diz-se conhecido em toda a parte, no Chile, na Argentina, mas nada sabe do Rio de Janeiro. De repente, porém, conta que já esteve aqui, que já foi preso no estado de sítio da vacina obrigatória com Jaques Ourique.
Alia, à sua pretensão intelectual, a sua cisma de fortuna, a um sentimento de uma grande importância social.
Para ele, ele é objeto de uma perseguição de poderosos; entretanto, diz que dispõe de poderes quase sobrenaturais de hipnotismo. Já conseguiu furtar os autos de seu processo de nulidade com auxílio dele e fez outras proezas.
Todos o têm como homem temível, e por isso procuram inutilizá-lo. Nada sei sobre os seus antecedentes. Só posso ter como certas coisas que ele repete da mesma forma; entretanto, não garanto, pois esse homem, no seu delírio, omite alguma coisa, para confessar mais tarde, e confessa outras, para negar logo depois. Disse-me que não esteve no xadrez dos loucos uma hora; outra, diz que esteve. Diz que não esteve na Pinel, outra hora diz que esteve. Disse-me que era o seu advogado quem se interessava por ele; outra hora, diz que é um pronto e não tem informação.
Ele está muito mais bem instalado do que eu. Tem um quarto com um só companheiro, uma mesa para o seu uso, com uma gaveta e chave, onde pode escrever à vontade. Eu, se quero escrever, tenho que ir pedir para fazê-lo no gabinete do médico, que isso me facilitou. Para mim, ele tem fortes recomendações políticas e outras poderosas que fazem ter ele essas regalias excepcionais.
A história do seu casamento me parece fantástica e da sua prisão também. Foram esses amigos políticos, talvez, que, à vista do seu delírio, conseguiram a sua internação e têm contribuído para ter gratuitamente o tratamento que tem. A sua inteligência parece não ter sido nunca grande e a sua fortuna também. Ele conhece o Amazonas, pessoas e coisas de lá. Percebe-se. Diz que ganhou dinheiro viajando com uma lancha que rebocava batelões carregados de mercadorias, que trocava com grande vantagem por borracha, que vendia em Manaus, em grande. Tenho ouvido de pessoas sãs, de juízo, que isto se faz ou se fez naquelas paragens. É, portanto, possível; mas logo vem o delírio, quando diz que os seus batelões carregavam cinqüenta mil toneladas de mercancia.
V
Guardas e Enfermeiros
Poderia alongar-memais na descrição dos doentes que me cercam. Mas a loucura tem tantos pontos de contato de um indivíduo para outro, que seria arriscar tornar-me fastidioso se quisesse descrever muitos doentes. Há uma grande parte que se condenam a um mutismo eterno. Como descrever estes? Estes silenciosos são bizarros. Há três aqui muito interessantes. Um é um tipo acaboclado, com um cavaignac crespo, denunciando sangue africano, que vive embrulhado em trapos, com dois alforjes pendurados à direita e à esquerda, sequioso de leitura, a ponto de ler qualquer fragmento de papel impresso que encontre. Não chega aos extremos de um português, que vive dia e noite, nas proximidades das latrinas, senão nelas, e que não trepida em retirar os fragmentos de jornais emporcalhados, para ler anúncios e outras coisas sem interesse, mas sempre delirando. O silencioso ledor não faz tal, mas escolheu o vão de uma janela, para aí passar horas inteiras deitado, como se fosse um beliche de navio. Outro silencioso, que tem a mesma atitude, é mulato, simpático, calmo, que só vai para as refeições a correr. O refeitório fica fora da seção e um pouco distante. Outro silencioso interessante é um matuto de Cabo Frio, que parece uma estátua. É de uma grande atonia, de uma inércia que não se concebe. Para deitar-se, é preciso ser trazido para a cama, mas logo se levanta e encosta-se à parede de um corredor e aí fica, até que o tragam de novo. Ama o silêncio e estar de pé. Encostado à parede, hirto, olhos parados, sem brilho nem expressão qualquer, parece uma estátua egípcia, um cimélio de templo.
O guarda rondante, aquele que vigia os doentes, à noite, é um velho português paciente e enérgico, que não tem nenhuma espécie de mau humor, para trazê-lo, duas, três e mais vezes para a cama.
O que assombra nestes portugueses é que, sendo homens humildes, camponeses em geral, de fraca educação e quase nenhuma instrução, se possam conter, abafar os ímpetos de mau humor, de cólera, de raiva, que o procedimento dos doentes provoca.
V. de O., outro dia, chamou o enfermeiro de todos os nomes sujos que há no português do Brasil e de Portugal; o F. P., toda a hora, todo o instante, de envolta com as mais torpes injúrias, descompõe os guardas na sua nacionalidade: galegos, etc. Daí a pouco, está a mimá-los e pedindo-lhes favores. O substituto do chefe de enfermeiros é uma vítima dele. É um português, novo, doce, simpático. Ouve tudo o que ele diz, ri-se, e daqui a pouco está atendendo os pedidos do F. P. Não é só com este que ele assim procede; é com o meu guarda também. Um rapaz espanhol, muito moço, simpático, com uns bonitos olhos ternos, que suporta da mesma forma todos os insultos dele e de outros.
Os enfermeiros, na seção em que estou, são em geral bons. Há, porém, uma casta deles que não presta. São os tais particulares. Estes são aqueles que os doentes abastados das primeiras classes são autorizados a trazer. Nem todos são assim, mas com dois eu implico solenemente; e me fazem lembrar a insolência do Bragança do pavilhão, que tem as costas quentes, por causa da proteção que lhe dispensa o poeta épico da Psiquiatria, H. R. Dizem que este está acabando os Timbiras de Gonçalves Dias e, para embeber o seu espírito de cadência e harmonia, dá freqüentes bailes em casa, em que o Bragança, o tal doutor do guarda-civil, figura como chefe do buffet.
Esses dois enfermeiros são absolutamente insuportáveis. Um, pela conversa que ouvi dele, é xucro português, sem as qualidades dos portugueses em geral, mas fátuo dos seus namoros e da sua irresistibilidade como homem, em face das mulheres. Ouvi-o conversar e sinto não poder reproduzir a conversa. Enumerava as enfermeiras que havia namorado, e o seu interlocutor, perguntando:
– Por que você não continuou o namoro com F.?
– Só podia ser por carta.
– Que tinha?
– Não gosto. O namoro só serve quando se pode beijar e apertar os peitinhos.
Creio que foi Maxime du Camp que disse ser uma lenda a história do senhor rico que desgraça as raparigas pobres. Tenho verificado que ele tem razão: são os rapazes pobres que as perdem. Este portuguesote tenho para mim que é candidato a um processo de defloramento ou de estupro.
O outro é muito confiado, tem uns ares de fadista e guitarreiro, com quem eu implico mais do que com o ar fanfarrão e meloso do nosso capadócio.
Os guardas em geral, principalmente os do pavilhão e da seção dos pobres, têm os loucos na conta de sujeitos sem nenhum direito a um tratamento respeitoso, seres inferiores, com os quais eles podem tratar e fazer o que quiserem. Já lhes contei como baldeei no pavilhão, como lavei o banheiro e como um médico ou interno me tirou a vassoura da mão quando estava varrendo o jardim.
Mas na Seção Pinel, aconteceu-me coisa mais manifesta, da estupidez do guarda e da sua crença de que era meu feitor e senhor. Era este um rapazola de vinte e tantos anos, brasileiro, de cabeleira solta, com um ar de violeiro e modinheiro. Estava deitado no dormitório que me tinham marcado e ele chegou à porta e perguntou:
– Quem é aí Tito Flamínio?
– Sou eu, apressei-me.
– O seu S. A. manda dizer que você e sua cama vão para o quarto do doutor Q.
Era este um estudante, que tivera um ataque e vivia no hospital, para curar os efeitos do insulto, que o deixara semi-paralítico.
Fiquei tonto com o carregar eu só a cama; o capadócio nem se deu ao trabalho de mandar um colega me ajudar, já que ele não queria fazê-lo. Foi preciso um outro doente espontaneamente prestar-se. Este guarda é brasileiro. Depois da minha ascensão no manicômio, ele, quando me encontra no refeitório, olha-me com uma certa desconfiança. Deste e do Bragança, eu tenho alguma mágoa, mas dos outros que me trataram por você e do Camilo, do pavilhão, que me fez lavar, baldear e varrer, nenhuma.
Não só eu fora para lá remetido como sujeito sem eira nem beira, devido à tolice dos meus parentes, pois me podiam internar sem passar por lá, mesmo com auxílio da polícia, como também não tinha ele o ar de feitor do violeiro da Pinel, e trabalhava, isto é, baldeava, lavava, varria junto conosco.
No hospício, das duas vezes em que lá estive, nunca me fizeram executar qualquer serviço, mas, se quisessem fazer, eu me prestaria, desde que ele estivesse de acordo com as minhas forças e os meus hábitos anteriores. Eu me prestava mesmo a aprender um ofício que fosse leve, mas essas tarefas pesadas...
Digo com franqueza, cem anos que viva eu, nunca poderá apagar-me da minha memória essas humilhações que sofri. Não por elas mesmo, que pouco valem; mas pela convicção que me trouxeram de que esta vida não vale nada, todas as posições falham e todas as precauções para um grande futuro são vãs.
Eu tinha tudo, ou tenho tudo, para não sofre-las, tanto mais que não as provoquei. Sou instruído, sou educado, sou honesto, tenho procurado o mais possível ter uma vida pura. Parecia que sendo assim, que – sendo eu um rapaz que, antes dos dezesseis anos, estava numa escola superior (que todos me gabavam a inteligência, e mesmo até agora ninguém nega) – estivesse a coberto de tudo isso. Mas eu e a sorte, a sorte e eu, nos juntamos de tal sorte, nos irmanamos, que vim a passar por transes desses.
Desde a minha entrada na Escola Politécnica que venho caindo de sonho em sonho e, agora que estou com quase quarenta anos, embora a glória me tenha dado beijos furtivos, eu sinto que a vida não tem mais sabor para mim. Não quero, entretanto, morrer; queria outra vida, queria esquecer a que vivi, mesmo talvez com perda de certas boas qualidades que tenho, mas queria que ela fosse plácida, serena, medíocre e pacífica, como a de todos.
Penso assim, às vezes, mas, em outras, queria matar em mim todo o desejo, aniquilar aos poucos a minha vida e sumir-me no todo universal. Esta passagem várias vezes no hospício e outros hospitais deu-me não sei que dolorosa angústia de viver que eu me parece ser sem remédio a minha dor.
Vejo a vida torva e sem saída. A minha aposentadoria dá-me uma migalha, com que mal me daria para viver. A minha pena só me pode dar dinheiro escrevendo banalidades para revistas de segunda ordem. Eu me envergonho e me aborreço de empregar, na minha idade, a minha inteligência em tais futilidades. Ainda tenho alguma verve para a tarefa do dia a dia; mas tudo me leva para pensamentos mais profundos, mais doridos e uma vontade de penetrar no mistério da minha alma e do Universo.
Eu me indago, de mim para mim, se, por acaso, não é amor que me corrói. Mas vejo bem que não. Passei a idade de tê-lo, fugindo dele, para que ele não me criasse sofrimento e não prejudicasse a minha ambição de glória. A própria Heloísa achava-o nocivo nos homens de pensamento; é verdade que ela também achava o seu Abelardo virtuoso.
Se fosse ele, eu teria explicação, pois, conforme diz Bossuet, "Posez l’amour, vous faites naitre toutes les passions; ôtez l’amour, vous les supprimerez toutes."
Não amei nunca, nem mesmo minha mulher que é morta e pela qual não tenho amor, mas remorso de não tê-la compreendido,devido à oclusão muda do meu orgulho intelectual; e te-la-ia amado certamente, se tão estúpido sentimento não tivesse feito passar por mim a única alma e pessoa que me podiam inspirar tão grave pensamento.
Li-a e não a compreendi...
Ah! meu Deus!
Ontem, matou-se um doente, enforcando-se. Escrevi nas minhas notas:
"Suicidou-se no pavilhão um doente. O dia está lindo. Se voltar a terceira vez aqui, farei o mesmo. Queira Deus que seja o dia tão belo como o de hoje."
Não me animo a dizer: venceste, Galileu; mas, ao morrer, quero com um sol belo, de um belo dia de verão!
VI
Hojeé segunda-feira. Passei-a mais entediado do que nunca. Li o Plutarco, mas não tive ânimo de acabar com a leitura da vida de Pelópidas. Mais ou menos, releio esta célebre obra, porque aos dezoito anos fiz uma leitura dela apressada e salteada. Não tem o mesmo sabor, a que faço agora, como tinha de delícia a primeira. Observo que Plutarco põe muito a intervenção dos deuses, nas proezas felizes dos seus heróis; há relações de predicações ingênuas que, apesar de tudo, nos fazem rir, mesmo a mim que sou supersticioso.
No almoço se deu um caso que me fez passar mal o dia. Há aqui um louco que não parece ser profundamente alterado das faculdades mentais. É aleijado das pernas e chamam-no até Caranguejo, porque, aqui, como em todas as coleções de homens que vivem juntos, há o gosto pela alcunha depreciativa. Há o Gato, há o Tetéia, etc.
Há muito que um certo doente o perseguia com chufas e gestos. Hoje, no refeitório, ao receber um destes do seu perseguidor, o Caranguejo atirou-lhe uns copos na cara. Não pegou, mas ele, apesar de seu aleijão, saiu atrás do adversário, que se cobriu de pavor e tremia. O pobre do bom Caranguejo, com quem eu jogo bisca calmamente, teve um ataque de nervos, rasgou as vestes e, quase a chorar, dizia:
– Eu não sou nada! Nada! Ponha tudo isto fora!
Deram-lhe uma injeção e ele dormiu, não podendo ir jantar.
Otal que o persegue, eu já lhe passei uma corrida. Não é positivamente louco. É antes um débil mental de um fundo perverso e de uma covardia sem nome. Só persegue os velhos, aleijados e os doentes mais imbecis que ele.
Ele foi preso e, tendo que ir até às proximidades do dormitório dele, de lá, muito de longe e com a fuga garantida, deu em fazer-me gestos imorais.
Não o temo, mas me aborreci o dia inteiro, em imaginar que alguém estaria na obrigação de se atracar com semelhante idiota.
É uma triste contingência, esta, de estar um homem obrigado a viver com semelhante gente. Quando me vem semelhante reflexão, eu não posso deixar de censurar a simplicidade dos meus parentes, que me atiraram aqui, e a ilegalidade da polícia que os ajudou.
Caído aqui, todos os médicos temem pôr logo o doente na rua. A sua ciência é muito curta, muito prevê; mas seguro morreu de velho e é melhor empregar o processo da Idade Média: a reclusão.
Leio com relativa minúcia os jornais. Até os crimes de repercussão, eu leio. Por estes últimos dias, houve um nefando. Um oficial do Exército matou a mulher em circunstâncias abomináveis. De uns tempos para cá, estão os oficiais a fornecer matéria para essa espécie de noticiários dos jornais. Tenho, para mim, que há nisso uma grande desilusão por parte das mulheres e uma ralação dos maridos, quando sentem as mulheres esfriar. A moça, a nossa moça casadoira da classe média, vê, nos dourados da farda do cadete ou do alferes, uma vida de delícia, de luxo, de importância. Casada, não é assim. O soldo, se bem que não seja mau, não dá para custear a metade do seu sonho de solteira. O marido, querendo conservar as boas graças da mulher, faz empréstimos, os vencimentos diminuem. Está aí a desgraça feita. Dificuldades, em casa, credores, mau humor da mulher, rompantes do marido, descomposturas, casas de tavolagem, álcool, etc.
Aqui, no hospício, há dois oficiais uxoricidas, e o tal engenheiro, em quem não desculpo a arrogância, apesar de sua insânia, o é também. Dos oficiais, um é positivamente louco. Delira, e o seu delírio é típico, passa das coisas mais opostas e sem intermédio algum logo, presente ou oculto. É muito difícil reproduzir um delírio de louco, principalmente o deste, que é de uma incoerência inacreditável. Eu quis
segui-lo e guardá-lo, já de memória, já por escrito; mas nada pude conseguir, mesmo aproximadamente. Ele acaba em casas de alugar, passa para o curso dos rios, história da guerra do Paraguai, etc., etc.
Além do delírio em voz alta, a sua loucura se revela pela necessidade em que ele está de quando em quando fazer o maior barulho possível. Ele dá murros nas mesas, bate com estrondo as portas, levanta as cadeiras e fá-las cair sobre o assoalho com toda a força, e assim por diante, tudo entremeado de palavras escabrosas e porcas. É geral nos doentes essa necessidade de pornografia e de terminologia escatológica. O F. P. imita a parte brilhante da demência do tenente. Haverá contágio na loucura? Ouvi sempre falar que alienistas notáveis atribuíam a loucura de velhos guardas à ambiência dos hospitais; aqui, contaram-me vários casos. A imitação, que é um poderoso fator de progresso social útil, positivo, pode bem ser contada em sentido contrário, um fator de regresso do indivíduo, e aqui sobra inteligência débil de modo a fazê-la copiar gestos e coisas dos loucos que a cercam.
Lembro-me agora do Silvestre, um pequeno caibra que eu ensinei a ler e me chamava de tu e você. Era um objeto perfeito para estudar a força da imitação sobre os indivíduos. Ele era feio, desengonçado, escanifrado, mas se tinha na conta de namorador. Um dia de calor e de gazeta (ele iniciava a cansar-se), ele julgou que ficava muito elegante se calçasse luvas. Calçou umas de tecido de meia, brancas, sapatos brancos, e correu as ruas dos subúrbios debaixo de vaias e chufas.
Além do fato que narrei, da imitação aos gestos do Tenente C. B. por parte do F. P., este ainda imita um português, Pereira, moço, cuja mania é simular com a boca uma deflagração baixa, muito baixa, e fazê-la seguir com expressões esquisitas. Não é só F. P. que o copia, outros muitos.
Com espírito normal, nós imitamos, temos sempre modelos. Citam-se nas rodas literárias desses tipos que imitam em tudo Artur Azevedo e Joaquim Nabuco, este mesmo já imitava não sei que parlamentar inglês, que ele conheceu em Londres, na sua primeira mocidade.
Conhecendo a vida dos guardas e pequenos empregados dos hospícios, que convivem familiarmente com os loucos, que, com eles, trocam chufas e familiaridades, é bem possível que alguns gestos, manias e caprichos os impressionem de tal forma, lhes dêem desejo de imitá-los, no começo por troça, habituam-se, a impressão se grava, e a exteriorização se segue e se desdobra com tempo.
Não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem coisa parecida; mas tenho para mim que não é toda estúpida essa hipótese. É preciso levar em linha de conta a capacidade e a resistência mental dos guardas e enfermeiros. Lembro-me que a Romualda não se capacitava de que meu pai estivesse sofrendo das faculdades mentais: "Não vejo nada. Sempre o conheci assim, zanga-se às vezes; foi dessa forma sempre e logo passa".
O outro uxoricida militar parece-me não ter nada. Creio que ele está aqui para fugir a cárcere mais duro. Não se pode compreender este homem assassino; é polido, culto, gosta de leitura e de conversar coisas superiores.
Nestes últimos dias, houve na cidade um assassinato de uma mulher, perpetrado por um tenente. Evitei falar nisto a ele; e a custo tenho me contido. Quisera a sua opinião. O engenheiro, que me parece ter sido sempre muito burro, matou a mulher, num acesso de loucura, e o filho. Este é francamente e permanentemente doido. Não lê coisa alguma, a não ser a Gazeta de Notícias, de cabo a rabo. É insuportável de arrogância. Ninguém conversa com ele, a não ser um imbecil R. (que pena! é moço, simpático e parece ter recebido educação). Ambos cochicham. Há perguntas e respostas.
Deve haver outros nestas condições; mas eu os não conheço; mas simples assassinos me apontaram três; um, na Seção Pinel, e os dois restantes aqui.
O da Seção Pinel é um velho, que anda sempre irrepreensivelmente vestido, muito limpo, engravatado, e foi empregado na Central, não sei com que título. Matou um colega, não me disseram por que motivo; mas o certo é que a sua aparência calma, de homem normal, causa um engano à primeira vista.
Passa assim dias, meses; mas lá vem um minuto, à noite ou de dia, em que ele sai da seção, fazendo gestos de fúria, de raiva e raivosamente a exclamar referindo-se à sua vítima:
– Dá-me um descanso, miserável!
O outro é um pensionista de primeira, que tem curiosos hábitos. Delira à meia voz, tem o seu quarto muito limpo pelas suas mãos, cuida dos gatos, das plantas, chegou até a plantar batatas e colhê-las, gosta de agarrar camundongos, esfolá-los e conservar as peles.
Este homem está no hospício há cerca de trinta anos; entrou muito moço, e a sua entrada, ao que dizem, foi motivada pela loucura que se seguiu ao assassinato de um rival, que disputava a moça de quem ele gostava.
O outro é muito velho e é um fratricida. Está mudo ou quase mudo. Certas formas de loucura têm esse efeito, e manifestações dela são as mais díspares possíveis. Debruçar sobre o mistério dela e decifrá-lo parece estar acima das forças humanas. Conheço loucos, médicos de loucos, há perto de trinta anos, e fio muito que a honestidade de cada um deles não lhes permitirá dizer que tenha curado um só.
Amaciado um pouco, tirando dele a brutalidade do acorrentamento, das surras, a superstição de rezas, exorcismos, bruxarias, etc., o nosso sistema de tratamento da loucura ainda é o da Idade Média: o seqüestro. Não há dinheiro que evite a Morte, quando ela tenha de vir; e não há dinheiro nem poder que arrebate um homem da loucura. Aqui, no hospício, com as suas divisões de classes, de vestuário, etc., eu só vejo um cemitério: uns estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas, assim e assado, a Loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos no insondável mar de seus caprichos incompreensíveis.
Ver o F. P. falar na sua inteligência formidável e V. O. na estrambótica engenharia me parecem coisas semelhantes que assistir aquele preto da Seção Pinel não querer dormir na cama do dormitório, para o fazer na proximidade da latrina, ou sorrir dolorosamente, quando vejo os trejeitos beatos do F., antigo dono de casa de pasto, e as suas rezas estapafúrdias. Todos eles estão na mão de um poder que é mais forte do que a Morte. A esta, dizem, vence o amor; a Loucura, porém, nem ele.
VII
Dia deSão Sebastião. Um dia feio, nevoento. Olho a baía de Botafogo, cheio de tristeza. Não acho tão bela como sempre achei. Os longes dos Órgãos não se vêem; estão mergulhados em névoa. As montanhas de Niterói estão sem o cobalto de sempre; e as manchas de cortes e chanfraduras nelas aparecem como chagas. O casario está mergulhado, confuso, não se desenha bem no horizonte. Tudo é triste. O céu muito baixo, cheio de fuligem, fumaça. O Pão de Açúcar está emoldurado de nuvens brancas, parecem abaixar do cume. Vê-se o chalet do caminho aéreo. A Urca, também chanfrada, é de uma estupidez diante daquele cenário! A Urca não muda. Lembro-me que já estive lá no alto. Como é diferente! O bosque é convidativo, fresco, há um lago natural no centro. As árvores ainda tinham os cipós da floresta, os pássaros chilreavam; parecia não se estar no Rio. Não me lembro de tudo visto; mas vi a Rasa e o oceano infinito, um pouco de Copacabana, da velha Copacabana. Um grande transatlântico sai. Vai vagaroso, vai para o mar largo, que se estende pelas cinco partes do mundo; beija-lhes e morde-lhes a praia. Corre perigo, mas está solto, entre dois infinitos; como diz o poeta: o mar e o céu. Vejo passar por Villegagnon, através das grades do salão. Villegagnon ainda tem muros, mas não lhes vejo as palmeiras. Acode-me pensar na fundação do Rio de Janeiro, que a data comemora. Nesta enseada houve, segundo a história, um combate com os franceses – o das canoas. Olho-a, está um tanto crespa, e as águas são turvas e dão ao olhar a impressão de que estão mais povoadas do que nas outras. Há pescadores em faina. Canoas ainda! Herança dos índios! O remo também vem deles! Quantas coisas, dos seus usos e costumes, eles nos legaram? Muitas! A farinha da mandioca, do milho, certas tuberosas, nomes de rios e lugares, muitos, adequados e expressivos. Hoje, a vaidade nacional batiza os lugares com os mais feios nomes que se podem esperar. Enseada Almirante Batista das Neves! Só falta um doutor, também. Esta nossa sociedade é absolutamente idiota. Nunca se viu tanta falta de gosto. Nunca se viu tanta atonia, tanta falta de iniciativa e autonomia intelectual! É um rebanho de Panúrgio, que só quer ver o doutor em tudo, e isso cada vez mais se justifica, quanto mais os doutores se desmoralizam pela sua ignorância e voracidade de empregos. Quem quiser lutar aqui e tiver de fato um ideal qualquer superior, há de por força cair. Não encontra quem o siga, não encontra quem o apoie. Pobre, há de cair pela sua própria pobreza; rico, há de cair pelo desânimo e pelo desdém por esta Bruzundanga. Nos grandes países de grandes invenções, de grandes descobertas, de teorias ousadas, não se vê nosso fetichismo pelo título universitário que aqui se transformou em título nobiliárquico. É o Don espanhol.
O dia é de tédio e eu procuro meios e modos de fugir dele, de voltar-me para mim mesmo e examinar-me. Não posso e sofro. Arrependo-me de tudo, de não ter sido um outro, de não seguir os caminhos batidos e esperar que eu tivesse sucesso, onde todos fracassaram.
Tenho orgulho de me ter esforçado muito para realizar o meu ideal; mas me aborrece não ter sabido concomitantemente arranjar dinheiro ou posições rendosas que me fizessem respeitar. Sonhei Spinosa, mas não tive força para realizar a vida dele; sonhei Dostoiévski, mas me faltou a sua névoa.
Aborrece-me este hospício; eu sou bem tratado; mas me falta ar, luz, liberdade. Não tenho meus livros à mão; entretanto, minha casa, o delírio de minha mãe... Oh! Meu Deus! Tanto faz, lá ou aqui... Sairei desta catacumba, mas irei para a sala mortuária que é minha casa. Meu filho ainda não delira; mas a toda a hora espero que tenha o primeiro ataque...
Minha mulher faz-me falta, e nestas horas eu tenho remorsos como se a tivesse feito morrer. Logo, porém, como vem de mim mesmo ou de fora de mim uma voz que me diz: É mentira.
Os outros deliram em redor de mim e, se não choro, é para não me julgarem totalmente louco. Imagino que essa convicção se enraíze nos médicos e me faça ficar aqui o resto da vida. Ainda agora, meu irmão veio visitar-me e, nos primeiros dias, um amigo; mas, dos que me vieram ver, na primeira vez que estive aqui, nenhum veio. Se me demorar mais tempo, ainda, ficarei completamente abandonado, sem cigarros, sem roupa minha, e ficarei como o Gato e o Ferraz, que aqui envelheceram, vivendo aquele a fazer transações de forma tão cínica, para arranjar cigarros. Troca pão por fumo e furta lápis dos companheiros, para arranjar moeda para barganhar. Todos o perseguem, o maltratam, o chasqueiam, na sua velhice, a ele que foi rico, filho de ex-ministro e senador do Império. "Sic transic gloria mundi. "
Aceito todos os fins, mas não permita Deus que o tenha um destes. Enche-me de angústia, quando este quadro se desenha a meus olhos; atribuo a mim mesmo a culpa do que me sucede, ao mesmo tempo culpo F., culpo Z., culpo X. e toda a humanidade, a sociedade em que vivo, mas não quero. Contudo, eu queria viver isolado, fora dessa paixão pela literatura, pelo estudo. Creio que ela me faz mal e lastimo não ter outra forma de talento em que minha inteligência pudesse trabalhar, absorver toda a minha atividade, sem comunhão com os meus semelhantes. Queria ser um geômetra, mesmo medíocre, mas da família de Arquimedes, conforme o desenha Plutarco, na vida de Marcellus, página 109.
Mas não me é possível, a minha pouco certa inteligência é de outra raça; sou levado incoercivelmente para o estudo da sociedade, para os seus mistérios, para os motivos dos seus choques, para a contemplação e análise de todos os sentimentos. As formas das coisas que as cercam, e as suas criações, e os seus ridículos, me interessam e dão-me vontade de reproduzi-los no papel e descrever-lhe a sua alma, e particularidades. Ao mesmo tempo, levado para o estudo das sociedades, da sua história, do quid que as anima, arrastado para o estudo do seu destino, sou também capaz de me emocionar diante das coisas e da natureza. Não serei nunca sociólogo, historiador, não serei nunca romancista. Falta-me amor ou ter amado. Mas... Minha mulher!
Não posso tratar dela. Não se ama uma morta; e eu não a soube amar em vida. Fui tomar café matutino, já melancólico; li os jornais, hipocondríaco; almocei, ainda pior. Não pude acabar de ler a vida de Pelópidas. À uma hora fui para o café com pão, que é a refeição mais apreciada por mim aqui.
Festa de São Sebastião. Uma enfermeira, com consentimento da alta administração do hospício, certamente uma canivetada na constituição, organizou na capela uma festa, flores, missa, sermão, etc. Na hora do café, os internos almoçaram uma bóia superfina, digna do santo do dia e da Constituição. Alguns nos olhavam naturalmente; mas outros, com a enfatuação, não tanto da idade, mas de estudantes, com a convicção que estavam muito acima de nós e se podiam permitir debochar-nos. É verdade que se limitaram ao Gato; mas, logo a uma reclamação deste, falaram poderosamente em casa-forte.
Voltei do café entediado. Um vago desejo de morte de aniquilamento. Via minha vida esgotar-se, sem fulgor, e toda a minha canseira feita, às guinadas. Eu quisera a resplandecência da glória e vivia ameaçado de acabar numa turva, polar loucura. Polar, porque me parecia que nenhuma afeição me aquecia, e turva, pois eu não via, não compreendia nada em torno de mim. Eu me comparava a um explorador das regiões árticas, que tivesse durante anos atravessado florestas lindas, cascatas, céus epinícios, lagos de anil, mares de esmeraldas, nessas paisagens mais belas da terra, as suas servências mais majestosas, e se houvesse de motu proprio atirado às banquises do pólo e se deixasse mergulhar na sua noite imensa que, para o meu caso, era infinita.
Quase me arrependia de não ter querido ser como os outros. Seguir os caminhos do burro e ter feito da minha vida um paradoxo. Quis ler ainda, mas não me era possível. Pensava e triava todos os meus sonhos que se iam esvaindo. Já tinha vivido dois terços da minha provável vida e só um pouco deles realizara. O que mais desesperava era a angústia de dinheiro. Não tinha contado com ele, como não contara com muitos elementos que eu desprezara; agora, eles se vingavam...
Sentia-me impotente por isso, e os obstáculos invencíveis. Não me quisera curvar, revoltara-me; entretanto, mais de uma vez me vira obrigado a pedir pequenos favores humilhantes aos camaradas. Curiosa independência!
Mastigava esse raciocínio, quando um colega de manicômio me chamou, para ver um doente da Seção Pinel, que fica na loja, impando no telhado. Lá fui e vi-o. Era o D. E., parente de um funcionário da casa, de real importância. Tinha o vício da bebida, que o fazia louco e desatinado. Já saíra e entrara no hospício, mais de vinte vezes. Apesar de tudo, era simpatizado, e muito, pelo pessoal subalterno. Não subira propriamente à cumeeira do edifício, mas à de uma dependência, no flanco esquerdo do edifício, onde fica a rouparia. Em chegando ao alto, começou a destelhar o edifício e atirar telhas em todas as direções, sobretudo para a rua, para as ruas, pois a tal rouparia ficava numa esquina.
Entre um e outro arremesso, prorrompia em descomposturas à diretoria e sorvia goles de cachaça, que levara num vidro de medicamentos.
Não era a primeira vez que, zombando de todos os esforços da administração, do inspetor e guardas, obtinha aguardente e se embriagava, preso, no estabelecimento.
Desta vez, ele o fazia em presença da cidade toda, pois na rua se havia aglomerado uma multidão considerável.
Jogava telhas e eles se apartavam para a borda do cais que beira o mar, no momento, turvo, e atmosfera fosca. Num dado momento, tirou o paletó. Ficou seminu; estava sem camisa. Atirava telhas e berrava. Alguém, de onde nós estávamos, um tanto próximo dele, gritou-lhe:
– Atira para aqui!
– Não, entre nós, não! Vocês são os infelizes como eu.
Continuou, durante algum tempo, nessa pantomima, quando acudiu o corpo de bombeiros com escadas. A sua fúria cresceu. Desandou a atirar pedras sobre os automóveis. Berros, palmas; e ele, como equilibrista, correu toda a cumeeira e foi buscar a flecha que lhe dava a semelhança de chalet e arrematava a cumeeira, para se armar. Os bombeiros fingiram que iam estender mangueira e obrigá-lo a descer com jactos d’água. Distraiu-se, deu pouca importância, e veio para a borda da cimalha falar à multidão.
Enquanto isso, guardas e bombeiros subiam pelo outro lado, sem que ele desse fé disso, e, surpreendendo, amarraram, não sem tenaz defesa dele a unhas e dentes.
O diretor veio ver, e os loucos amolavam-no.
O V. O. fez-lhe esta recriminação que ouvi:
– Vê Vossa Excelência isso, numa casa desta! Que escândalo!
Este V. O. não sai mais daqui. Cada dia, torna mais completo o seu depoimento de doido.
O diretor nada disse, e eu percebi; mas foi preciso ele vencer, com a sua doçura, a sua paciência e a simplicidade de sua alma, a indelicadeza desse seu hospitalizado.
Hei de falar mais longamente sobre ele, que é uma interessante figura que conheci.
A proeza do D. O. agitou todo o hospício, pôs a rua em polvorosa e suspendeu o tráfego da Light, e havia no seu procedimento muita coisa, que parecia ser ele premeditado.
Doentes lá de baixo, e outros com os quais vim a conversar depois, disseram-me que sim, que ele tinha feito veladas ameaças do que ia fazer.
Num dado momento, trepado e de pé na cumeeira, falando, cabelos revoltos, os braços levantados para o céu fumacento, esse pobre homem surgiu-me como a imagem da revolta... Contra quem? Contra os homens? Contra Deus? Não; contra todos, ou melhor, contra o Irremediável!
VIII
O hospício tem uma biblioteca; antigamente, isto é, há cinco anos, quando aqui estive, estava nos fundos da seção, em uma pequena sala. Tinha uma porção de livros, até um Dostoiévski lá havia e um excelente dicionário das literaturas, de Vapereau, que eu lia com muito agrado; atualmente, porém, conquanto tenha pequenas mesas, meia dúzia, próprias para ler e tomar notas, duas cadeiras de balanço e duas espécies de divãs (estas últimas peças já existiam), não possui mais a mesma quantidade de livros, e a freqüência é dos delirantes, que lá vão dar pasto a seu delírio, berrar, gritar, fazer bulha com as cadeiras sobre o assoalho, não permitindo nenhuma leitura.
Há ainda livros curiosos que eu queria ler, mas não é possível absolutamente. Vi uma obra em dois volumes sobre finanças de Colbert, Félix Joubleau, que me tentava lá; vi um Daniol, História das Classes Rurais na França, que devia ser interessante, apesar de um pouco antigo; vi o romance de Pedro, o Grande, de Merejcóvski; um Bohème Galante, de Gérard de Nerval; mas não me animei a ler. Às vezes, para variar, ia até lá e pegava ao acaso um volume da Biblioteca Internacional de Obras Célebres e lia. Foi aí que se me ofereceu pela primeira vez o ensejo de ler uma carta de Heloísa e a biografia de Abelardo, por Lewis, o célebre biógrafo de Goethe e amante não menos célebre de George Eliot.
O lugar era cômodo e agradável. Dava para a enseada, e se avistava doutra banda Niterói e os navios livres que se iam pelo mar em fora, orgulhosos de sua liberdade, mesmo quando tangidos pelos temporais. Às vezes, lendo, eu me punha a vê-los, com inveja e muita dor na alma. Eu estava preso, via-os por entre as grades e sempre sonhei ir por aí afora, ver terras, coisas e gentes...
Um dia, não sei se foi na biblioteca ou no salão de bilhar, vi entrar barra adentro um grande quatro mastros à vela. Há muito tempo que não via esses quadros marítimos, que foram o encanto da minha meninice e da minha adolescência. A minha literatura começou por Jules Verne, cuja obra li toda. Aos sábados, quando saía do internato, meu pai me dava uma obra dele, comprando no Daniel Corrazzi, na Rua da Quitanda. Custavam mil-réis o volume, e os lia, no domingo todo, com afã e prazer inocente. Fez-me sonhar e desejar saber e deixou-me na alma não sei que vontade de andar, de correr aventuras, que até hoje não morreu, no meu sedentarismo forçado na minha cidade natal. O mar e Jules Verne me enchiam de melancolia e de sonho.
Não gostava muito das viagens fantásticas, como à lua, ou que tivessem por entrecho uma coisa inverossímil, como no País das Peles; assim mesmo apreciava o César Cascabel e a Viagem ao Centro da Terra. Do que mais gostava, eram aquelas que se passavam em regiões exóticas, como a Índia, a China, a Austrália; mas, de todos os livros, o que mais amei e durante muito tempo fez o ideal da minha vida foram as Vinte Mil Léguas Submarinas. Sonhei-me um Capitão Nemo, fora da humanidade, só ligado a ela pelos livros preciosos, notáveis ou não, que me houvessem impressionado, sem ligação sentimental alguma no planeta, vivendo no meu sonho, no mundo estranho que não me compreendia a mágoa, nem ma debicava, sem luta, sem abdicação, sem atritos, no meio de maravilhas.
Entretanto, nestes últimos dez anos, rara vez eu vinha ver o mar. Vivia numa cidade marítima, sem ir vê-lo nem contemplá-lo. Atolava-me na bebida, no desgosto e na apreensão... Pensava bem em morrer, mas me faltavam forças para buscar a morte. Comprava livros e não os lia. Planejava estudos e não os fazia. Delineava obras e não as realizava. Minha capacidade inventiva e criadora, a minha instrução técnica e a minha pretensão eram insuficientes para fabricar um Náutilus, e eu bebia cachaça.
Lembrava-me disso, vendo a biblioteca, o mar, os paquetes, os perus e faluas, que entravam na enseada de Botafogo, os pescadores a colher as redes, em canoas quase atracadas ao cais, e sonhava o mar livre que se adivinhava, lá fora da barra, ali bem perto...
O grande veleiro, a gábia de quatro mastros, entrava por ela afora, sem auxílio de rebocador, com o terço do velame solto, sem denunciar o esforço e sem ter a arrogância dos paquetes, a vogar, sereno, parecendo de acordo com a natureza, com o céu e o mar, em que todo ele estava mergulhado. Neste momento, apareceu-me o V. O., que me veio dizer que não lhe davam a sua roupa fina, que tinha dezenove malas, que o médico estava no complot que se organizava contra ele e o inspetor também. Não sei como este último apareceu, e ele se pôs a esbravejar contra ele, gritou, chamou-o dos nomes mais feios desta vida, contra todas as suas prosápias de títulos, e acabou tirando da palmilha dos sapatos algumas notas, dizendo que ali tinha trezentos e tantos mil-réis. Dias antes, tinha me dito que tinha duzentos. Na loucura deste homem, há muita impostura. Deixei de ler a carta de Heloísa e de ver o mar, ambas as coisas me faziam sonhar.
Resolvi deixar de freqüentar a biblioteca, porque, quando não era o V. O., eram o F. P., com suas dissertações de tico-tico e enumeração dos seus parentes doutores e bacharéis, o C. B., com o seu estardalhaço, que não me permitiam ler com atenção. Resolvi fazê-lo no dormitório e durante muito tempo sorvi sossegadamente o meu Plutarco. A minha leitura atual desse célebre livro é feita com outro olhar que o de antigamente. Noto-lhe uma porção de atributos sempre os mesmos, para os seus heróis. Ele os quer sempre belos, como filhos mais belos do seu tempo, e o paralelo entre os heróis de Grécia e Roma, às vezes, não é feliz; mas há sempre nele muita coisa que nos faz refletir. Vejam só esta observação de um antepassado dos atuais bolchevistas, do cita Anacársis, feita a Sólon: "As leis são como as teias de aranha que prendem os fracos e pequenos insetos, mas são rompidas pelos grandes e fortes". Os nossos milionários e políticos não pagam os impostos e, muitas vezes, os criados, quando os alugam, se não mandam buscá-los na polícia militar e na guarda civil; entretanto, há uma porção de leis, de fiscais, etc., etc.
Ora, a lei! Que burla! Que trabuco para saquear os fracos e os ingênuos...
Mas, como dizia, resolvi abandonar a biblioteca e vir ler no dormitório.
Infelizmente, não tenho um quarto, para mim só, nem com outro companheiro. Habito, com mais dezenove companheiros, um salão amplo, com três janelas para a frente da rua, olhando para o mar. A minha cama fica perto da janela, mas, entre ela e eu, há um colega dos mais estranhos da casa. Só sai do dormitório para as refeições, para lavar o rosto de manhã, conjuntamente com os seus trapos, na pia; e, afora disto, vive a dormir, ou à janela, dizendo uma porção de coisas desconexas, em que ele repete sempre coisas de jogo e batota. O seu acesso foi na rua, e intitulou-se capitão de polícia, e os outros aqui o chamam por esse título militar. Esquecia de dizer que ele lê um volume do Dicionário Ilustrado, do Pinheiro Chagas, ou, senão, jornais velhos, que arrepanha aqui ou ali. Todas essas coisas não me incomodariam, se não se julgasse no seu direito de estar a abrir e a fechar a janela, desde que lhe dê na telha sair dela ou de ler, para deitar-se ou ir a qualquer parte. Muda-me a luz e incomoda-me na leitura.
Meu vizinho de dormitório é um rapaz cuja loucura reagiu sobre o seu aparelho vocal a ponto dele mal falar e com esforço. Olha-me estupidamente, e com um olhar parado e de um único brilho, e tem a mania de incapacidade de ingerir qualquer alimento. Tudo se tem experimentado: leite, frutas, até um irrigador; mas é em vão. Ele não ingere nada e, se ingere à força, logo vomita, debilita-se e dá em suar às catadupas.
Esperando a sua morte próxima, a família levou-o para casa. Vai mudar de cemitério – coitado! Para esse, não houve um intervalo entre os dois. Foi substituído pelo Pinto.
Um outro companheiro de dormitório é um tal Cabo Frio. Tem os traços todos do nosso camarada roceiro, com um fundo muito forte de índio, cabelos negros e barba também grossas e luzidias.
Está completamente estúpido, não fala e vive hieraticamente esteado nas paredes, ou nos cantos, como uma estátua de templo egípcio. Em começo, era preciso, à hora de recolher, trazê-lo para o quarto; mas, dias depois, já vinha pelo seu pé. Com essa conquista sobre o seu cérebro ocluso, ele ganhou também outra atividade. Remexe os baixos dos travesseiros e colchões dos outros, carrega o que encontra e vai esconder os objetos onde cisma. Sempre antipatizei com ele – Deus não me castigue! – e depois que desapareceu, de debaixo do colchão, um livro, mais o fiquei aborrecendo. Desconfiei que fosse ele, o que me aborrece extraordinariamente. O que me aborrece é a sua inércia, a sua falta de iniciativa, e o furto do livro, como já disse, fez-me aborrecê-lo mais, conquanto suspeite de outros: um tal Veiga, o F. P., o sargento e mais um tal Gastão.
Este último, que já foi do meu dormitório, é um rapazola de seus dezoito anos, que tem uns ataques de forma epiléptica. É uma natureza de dissimulação e falsidade. Gosta de escambar, gosto que não é só dele aqui, mas que se encontra em muitos outros. O Gato é um deles. Carrega pães e troca por cigarros, estes por jornais, vende os jornais por lenços, furta camisas e livros, para cambiar por qualquer coisa, ou vender. Creio que já lhes falei na sua prosápia de família, das suas constantes alusões ao seu pai ex-ministro do Império, chama todos de negros, ladrões. Ele já me furtou um lápis. A sua mania de descomposturas lhe tem valido muitas sovas. Uma das últimas foi a do Borges, um negro pretíssimo, de pais ricos, mas façanhudo, rixento, que não pode estar na seção para que paga, pois agride todos por dá cá aquela palha. É um belo tipo de cabra ou caibra, com fortes peitorais, magníficos bíceps, deltóides. Um pouco curto de corpo, sobretudo de pernas, como ele todo, robustíssimas, respira audácia, bravura, desaforo.
Ao entrar, ele se chegou a mim e olhou-me ferozmente:
– Como é que você deixa a farda?
– Que farda? Não uso farda.
– Você não é oficial do Exército?
– Não; é meu irmão.
– Bem dizia eu.
Falou abruptamente, as suas palavras saltavam dos lábios, aos jactos, descontínuas, mas sem propósito de me ofender, mas de acariciar-me; daí a dias, deu-me biscoitos caros, que recebeu de casa.
O Gato, o Marquês de Gato, insultou-o de negro, vagabundo e ladrão. B. não teve dúvidas e intimou-o ameaçadoramente:
– Repete, se você é gente, seu este, seu aquele.
O Gato, o nobiliárquico Gato, repetiu, e o B. deu-lhe tais murros, que o pôs todo em sangue, com o nariz quebrado. Penalizei-me, porque o Gato era um velho, a roçar pelos sessenta anos, cheio de uma loucura infantil de insultar, fazer caretas e julgar-se muito, com ter sua parentela obscura, mas colocada em bons lugares, e o seu título de bacharel em Direito, por São Paulo, obtido adivinha-se como. Depois de levar os bofetes de B., andou dias com o emplasto, e o nariz, que era grande, rubicundo, proeminente até à altura da boca, encurtou um pouco e cambou para um dos lados. A sua fisionomia era cômica, com esse nariz, a sua cabeça redonda, os seus olhinhos verdes e, quando se enfurecia, com o seu falar esganiçado e rápido.
Implicava com todo o mundo; comigo, só da primeira vez que estive, quando saí para ir não sei onde, que ele disse ao passar:
– Este negro entrou ontem e já se vai embora.
Agora ele me trata muito bem.
Ontem, ele me chamou confidencialmente e me disse:
– Você sabe de uma coisa?
– Não.
– Vou para São Paulo e lá me casar com uma filha do S. L., que tem noventa milhões de contos.
Ele não se contentava com pouco.
IX
Outras considerações referentes ao meu dormitório me arrastaram a abandonar os motivos por que o deixei como lugar de leitura, para voltar à biblioteca.
Queria reatar a narração das razões, mas não me é possível. Um vizinho foi, afinal, quem me levou a fazê-lo. Só este, porque, em geral, como já descrevi, pouco os outros me incomodavam. Os mais próximos eram excelentes, tanto o da cama, à direita, de que já sobre ele falei, como o da esquerda.
Era este um menino, moreno, completamente idiota. Tinha as feições regulares, a não ser a boca, os olhos negros cravados nas órbitas, e balbuciava que nem um criança. Tinha poucas idéias e quatro ou cinco palavras. Parece que tinha mais idéias que palavras. Repetia:
– Papai é mau.
– F. é mau!
– Papai tem dinheiro!
– É mau!
– Que pena!
Eram mais ou menos estas as palavras que se entendiam na sua boca. Doce e bom, geralmente estimado, tinha tudo e de todos, e figurava no hospício como um cãozinho de estimação de todos. Hão de estranhar que não houvesse quem criasse animais, gatos, cães, pássaros, etc. A bem dizer, não havia; mas o Torres, o único pensionista de primeira classe, o tal que matara o rival e era o decano do estabelecimento, no almoço e no jantar, juntava restos de comidas e levava aos gatos ariscos que andavam pelos pátios e jardins. F. tinha toda a liberdade e andava onde queria. Fora deste, não vi louco algum que se interessasse por animais.
Na outra casa de saúde em que estive, havia um oficial reformado do Exército, declaradamente dementado, que tinha a cisma de que conversava com os pardais.
Em todas as refeições, munia-se de miolo de pão, mergulhava-o em água, na pia do seu quarto, e atirava pedaços da pasta assim obtida aos pássaros, que voejavam em torno do pavilhão às centenas. Não contente com isso, comprava chocalhos, apitos infantis, fazia poleiros, gangorras, para divertir ou chamar os pardais. Estes pássaros acorriam aos montes na varanda, que se estendia em face dos quartos, cujas janelas para ela davam, e tudo emporcalhavam com os seus dejetos. A irmã zangava-se, ameaçava-o, mas o tenente não se emendava. Continuava.
No hospício, não vi nada semelhante. Os loucos me pareciam pouco emotivos, e quase todos eles se queixavam dos seus parentes e das suas mulheres.
V. O. abrangia, na mesma queixa, a mulher, a sogra e os irmãos; o F. P. descompunha os irmãos e afirmava em alto e bom som que havia de falar mal da família até morrer.
Na minha convivência, ou melhor, nas minhas convivências com loucos, dois ou três vi chorar. O tal rapazola da cama, à esquerda da minha; e um outro, na janela do salão de bilhar, quando delirava. Alguém repreendeu-o por isso, mas ele, com propriedade e urbanidade, respondeu:
– O senhor nada deve observar-me, porque não sabe quais são os meus sofrimentos.
Como dizia, porém, eu tive que ir para a biblioteca ler, por causa do meu companheiro de dormitório. Tinha evitado travar relações com ele, mas, aos poucos, pedindo fogo e outros pequenos favores muitos, fomos travando conhecimento mais profundo.
Era um rapaz pálido, de feições delicadas, franzino, que vivia sempre com um lenço na cabeça, bem molhado. A princípio, julguei que fosse para manter a pastinha inalterável, com o seu vinco muito nítido no meado da cabeça; mas, bem cedo, vi que não. Uma noite, delirando, ele gritou:
– Estão me queimando a cabeça!
Atinei logo com o seu delírio, e em breve ele explicou todo o seu sofrimento imaginário, fazendo questão de que eu escrevesse e tirasse nota do que ele me expunha.
Trouxe-me escrito o seguinte:
[ .... ]
Deu-me isto a lápis, em papel amarelo de embrulho, dizendo-me: "resolva este problema". Mas não esperou a minha resolução, ele mesmo se encarregou de explicar-me a coisa, e eu pude registrar, mesmo à vista dele, alguma coisa, o essencial do seu delírio. Dizia-me ele:
[ .... ]
Quando me explicou isso, foi nas primeiras horas do dia, depois do café matinal, e não me deu tempo de ler os jornais. Quando voltei do almoço, às nove e meia, pude fazê-lo, mas acabado que ele foi, ele reencetou a explicação, e, para me livrar dele, fugi para a biblioteca. Lia eu o doutor Jousseaux, um livro sobre a geologia e fisiografia do Mar Vermelho, aqui e ali, interessante, no maior sossego, pois éramos dois malucos dos menos malucos – eu e o E. P. (o da cabeça branca) – quando vi que o inspetor seguia um visitante vestido de casimira, sem ar de médico, e entrava ele pela seção com o máximo desembaraço. Ele deu comigo e eu com ele, encontrando-se os nossos olhares. Pareceu-me já tê-lo visto e a ele, não sei porque, suspeitei que acontecesse a mesma coisa em relação a mim.
Quem é? Quem não é? Soube-se logo que era um dos fiscais do governo para casas de saúde e recolhimentos.
Logo que se soube isso, toda a seção se pôs em polvorosa. Não houve quem não apresentasse a sua queixa. V. O. fez um discurso e leu representações, cartas, que eu tinha corrigido e mesmo escrito. Ficou muito contente, porque o doutor ia tratar de tirá-lo de lá, tanto, isso depois, que ele sabia (ele sempre sabia do que se passava fora do alcance das suas vistas e ouvidos) que o fiscal falara a respeito dele, V. O., energicamente, com a alta administração.
O meu vizinho do holofote do monte Ararat não lhe deu a mínima importância. Limitou-se a perguntar, horas depois da saída do tal fiscal:
– Quem é esse doutor boa-vida que aí esteve?
Mais feliz do que V. O., ele se ria de todas as providências e solicitudes do governo. O fato é que o tal doutor boa-vida, como o chamou o A. de Oliveira, devia ter voltado para a casa, meditando sobre os percalços de visitar casa de loucos.
Quando saiu, deu por falta de sua bengala com castão de ouro...
X
Sem data
O meu transplanteforçado para outro meio que não o meu. A necessidade de convivência com os de meu espírito e educação. Estranheza. A minha ojeriza por aqueles meus companheiros que se animam a falar de coisas de letras e etc. O J. P., que se animava a discutir comigo Zola e falar sobre edições, datas, etc. Entretanto, eu gostava dele. Ri-me mais que nunca quando, percebendo tudo isto, lembrei-me que me supunha um homem do povo e capaz de lidar e viver com o povo. Concluí que nem com ele, nem com ninguém. Lembrança da mulher, a única que podia ter feito viver comigo e eu não compreendera.
Cigarro. Insistência em pedir. Negar. Arrependimento. O caso do velho. Remorso: dei o cigarro, muito depois de tê-lo negado.
Um pequeno meteu-se no porão, armou-se de tijolos e ameaçou não sair de lá. Os guardas entraram lá com escudos de travesseiros.
Um maluco vendo-me passar com um livro debaixo do braço, quando ia para o refeitório, disse: – Isto aqui está virando colégio.
A Noite, de 15-1-20, sobre desapropriações.
Dia 16-1-20.
Suicidou-se no pavilhão um doente. O dia está lindo. Se voltar terceira vez aqui, farei o mesmo. Queira Deus que seja um dia bonito como o de hoje.
Os sábios que seguiram Napoleão na expedição do Egito, montavam em jumentos. Quando os mamelucos ameaçavam um ataque, ao formar um quadrado, os soldados gritavam: "No centro do quadrado, os asnos" – "Au centre du carré, les ânes" – porque estavam montados em burricos.
What is gipsy?
O engenheiro diz que o Pires de Albuquerque foi promovido devido a ele, tendo-lhe dado até dinheiro.
Revolta das mulheres por causa da comida. Loucas e enfermeiras. Diferença entre a reclamação delas e a dos homens, que foi anteriormente.
Conversa de loucos. Dificuldade de reproduzi-la e o delírio também.
Rabelais XIII.
Abelardo: Viveu infeliz e morreu humilhado, mas teve a glória e foi amado.
O B., homem de mais de cinqüenta anos, dizia ter oito ou nove anos e tomava a bênção a outro doente (V. O.).
Há um doente, o tal dos berloques, que toca piano, é o que toca melhor; ele toca coisas do meu tempo de rapazola, quando eu dançava. Observo o seu modo de tocar. Embrulho. O Hino Nacional. Nunca acaba.
C. B., jogando xadrez, vai muito bem e de repente vem-lhe o delírio e complica tudo.
Comparar com o bilhar. Por quê?
Quem toca é o tal bacharel que se condenou à mudez. E..., M..., o velho que dizem matou a mãe, quase mudos. Observar as reações da loucura sobre a articulação da palavra; alguns, trôpegos de língua; alguns balbuciam, e outros, quase mudos.
B., quase preto, o terror da enfermaria. A briga dele com o Gato, o Caranguejo. Falar desse tipo curioso de maníaco.
Eu vi o P. esfregando o assoalho com a vassoura pesada.
A., companheiro de dormitório; tem a mania de trazer a cabeça molhada e os cabelos presos por um lenço fino. Uma noite, despertou gritando: Estão me ateando fogo na cabeça! Dorme com uma venda nos olhos e tem ao lado um verdadeiro guarda-comidas. Mania literária.
Um velho português que tem a vaga semelhança com Francisco José, imperador da Áustria, se crê por isso imperador. Seção Pinel.
Haverá contágio na loucura? Creio que sim. Ambiência do hospital. A imitação como própria à natureza da nossa inteligência. Notar P. imita dois loucos: C. B. (tenente) que dá para bater portas e cadeiras, dá murros na mesa, etc., e Pereira, que imita dar traques. Este é copiado por diversos. As falas com que acompanham os gestos com a boca não se podem repetir: são porcas demais.
A princípio ninguém me procura. Da outra vez, fui muito. Sou muito estimado na Rua do Ouvidor; mas quem não o é aí?
O F. P. batuca no piano coisas tão estúpidas como a sua loucura. Não sei como o povo julga que a loucura é sintoma de inteligência e de muito estudo. No hospício, não se vê tal coisa.
Um louco perguntou-me se Lisboa ficava em Minas Gerais e V. O., aliás doutor, não sabia onde ficava Blumenau.
Diz F. – está há vinte e seis anos, tendo entrado com vinte e oito – que as mulheres temem refeitório devido à revolta do João Cândido.
Há três doentes que mataram ou tentaram matar as mulheres, dos quais dois são oficiais do Exército, sendo que um nada tem. É o engenheiro, o tenente e o Tenente P. M.
A força da loucura do V. O. está nas suas pretensões intelectuais. Ele me disse que tem os instrumentos de engenharia mais aperfeiçoados, e um teodolito, caríssimo, [ilegível], e uma bússola que faz levantamentos automáticos e os registra numa espécie de fita telegráfica, indo no bolso. Instrumentos de cirurgia, etc. A sua casa é uma lindeza de coisas pequeninas, até a mesa de operações é de tamanho de uma boneca. Quando mora em sobrados, tem as flores em potes. Entre elas, catléias, catléias em pote!
Dia 20-1 -20.
Hoje, o D. E., sobrinho de um funcionário daqui, embriagou-se e, no furor alcoólico, conseguiu subir até o telhado de uma dependência do hospício e de lá, prorrompendo nos maiores impropérios, pôs-se nu em pêlo, enquanto bebia aguardente. Na hora do café, lá estavam os caibras ou coisa parecida. Alguns têm um ar bom e modesto; mas outros têm a morgue de estudantes. Eu já tive.
Houve festa na capela e ao sair do café (à uma hora) cruzei-me com os padres. Que lorpas! E a constituição! Padres como esses não fariam mal, se não fossem eles a guarda-avançada do estado-maior jesuítico que nos pretende oprimir, favorecendo os ricos e pavoneando os seus preconceitos.
D. E. Veio o corpo de bombeiros, com uma escada, para tirá-lo de cima do telhado. Ele partiu as telhas e pôs-se a atirá-las em cima do povo que assistia o espetáculo do lado da rua. Não parece intimidado. Está seminu e, apesar de saber perfeitamente que está tomado de loucura alcoólica, de pé, na cumeeira do pavilhão, destinado à rouparia, como que vi, naquele desgraçado, a imagem da revolta.
Esse acontecimento causa-me apreensões e terror. A natureza deles. Espelho.
Guardas e bombeiros conseguiram apanhar o homem e amarrá-lo. Ele estava acocorado na borda da emalha, acocorado da forma daqueles animais fantásticos que se vêem nas cimalhas das igrejas góticas. Suspendeu o trânsito, durante mais de uma hora. O edifício ficava no canto da Rua General Severiano.
O F. F. tinha no quarto também um estudo sobre moléstias crônicas, em francês.
O barbeiro.
Dizia Catão, segundo Plutarco, que os sábios tiram mais ensinamentos dos loucos que estes deles, porque os sábios evitam os erros nos quais caem os loucos, enquanto estes últimos não imitam os bons exemplos daqueles. Plutarco, página 178. 2v.
Ouvindo Catão, que pronunciava poucas palavras para o intérprete traduzi-las em muitas, aos grupos, observaram estes que as palavras do romano saíam do coração e as dos gregos da ponta da língua (bout des lévres).
22-1-20.
Vi hoje entrar um navio à vela, sem auxílio de rebocador, com um terço do velame. Outra impressão do vapor. Não denunciava esforço e parecia docemente ir a navegar sereno.
O. N., o tal de engenheiro, qualificou de vermelhas as cascas das laranjas, quando as mandou cortar pelo cozinheiro.
V. O. diz comprar um yacht logo que saísse e convidou o comandante e o farmacêutico.
O. V. lavador de peças de roupas dos pátios. Foi aluno da Escola de Minas. O tipo. Condenou-se ao silêncio. Gosto pela leitura. Vive nos vãos das janelas. Uma sesta, com outros que têm a mesma mania.
O alemão grandão, que é meu vizinho no refeitório, por ocasião do café teve um ameaço de ataque epiléptico. Bem estúpido e malcriado. Tratar dos nomes de pavilhões e dependências. Pinel, Esquirol – mulheres – Calmeil. O mais conhecido é o Esquirol porque foi médico do Augusto Comte.
O F. P., a sua mania de amolar todo o dia o médico e seu esforço para impedir que os outros fizessem o mesmo.
Juliano (Tito) César Flamínio.
Vive-se aqui pensando na hora das refeições. Acaba-se do café, logo se anseia pelo almoço; mal se vai deste, cogita-se imediatamente no café com pão; à uma hora, volta-se e, no mesmo instante, se nos apresenta a imagem do jantar às quatro horas. Daí até dormir, são as horas piores de passar.
O V. O. logo se informou de tudo, costumes dos doentes, guardas, mexericos, puxava conversa com todos, doentes e guardas, para saber novidades.
23-1-20.
O S., que parecia idiota completo, a ponto de carregar troços dos outros, para os dar a um meu vizinho de dormitório, desapareceu. Emoção na seção.
O C., sempre com um pano preto. Tipo eclesiástico. Mal encarado. Companheiro de bisca com o P. Uma voz fortemente nasal. Era tipógrafo. Tinha um ríctus constante de mau humor e aborrecimento.
24-1-20.
Hoje, antes das sete horas, F., o que tem mania religiosa, desaveio-se com um belga, que tem mania de milionário e condecorado, e deu-lhe um golpe com uma faca improvisada.
Visita do procurador da República, Olinto Braga. Agitação. Reclamação dos malucos. Inspeção das camas, etc.
Um doente chamou-o de boa-vida.
Furtaram da sala do diretor a bengala do procurador.
O A. disse que o faziam ficar sem juízo e a alma se esvaía.
O servente do laboratório. A sua pretensão. O avental que, no interior dos hospitais, se confunde com a tal esmeralda simbólica. Livros científicos. Meios de cultura. Não sabia francês. Quis que lhe traduzisse páginas. Pede a P., embaraço deste. Caso semelhante, Hospital Central, com F., diferença entre este e aquele. João e Horácio, nos laboratórios de química da Escola Politécnica.
F. diz que a mãe dele tem quatrocentos e vinte anos.
Suas façanhas. Casa-forte. Pai rico. Transferido de seção. Saída da casa-forte. O [...] estava no pátio na outra seção. Negro. Vassoura na mão. Reflexões a respeito.
Vieram visitar-me o Luís Pinto, o Paixão e um amigo deste, 25-1-20, quando fazia um mês que eu aqui estava.
A loucura, a degradação humana – o horror desse espetáculo.
V. O., sua preocupação de ser o primeiro maluco que faz reclamações, e sua pretensão de que fala muito bem e com toda a clareza.
V. O. disse-me que tinha duzentos e tantos mil-réis na palmilha da botina; quando brigou com o Dias, disse que tinha trezentos e tantos. No dia de São Sebastião, foi à capela do hospício pelo correr do dia e à tarde. Voltou de lá dizendo que tinha arrematado prendas. Estávamos no salão, e ele apontou uma menina que passava, como tendo recebido dele o presente de uma flor arrematada. Vendo que a menina não levava flor alguma, emendou que esta estava no chapéu. Na ocasião da proeza do D. E. no telhado, viu a sogra e a mulher. Ele toma-me as palavras e as repete como dele. Quando o B. quebrou o nariz do Gato, eu, narrando-lhe o fato, classifiquei o estado do nariz do Gato como estando à meia nau; imediatamente, contando a outro, ele repetiu a classificação. Vendo os padres no refeitório, achei-os indecentes, antipáticos, com ar de párocos portugueses. Ele, na minha vista, repetiu a opinião. As cartas que lhe dou minuta, que lhe emendo, quando eu o procuro para que ele aluda a esse serviço, mínimo, ele desconversa. Ele é mais ignorante do que eu pensava. É um caso interessante.
Diz Plutarco que, mais do que outra qualquer divindade, Vênus tem horror à violência e à guerra.
Não sabe suportar nem a boa nem a má fortuna.
Há sempre prodígios, no Plutarco, até os ratos roem o ouro do templo de Júpiter, raios advertissadores, crianças que nascem com cabeça de elefante, eclipses, etc. Todos os seus heróis têm filhos mais belos da cidade.
Houve quem perguntasse: bebemos porque já somos loucos ou ficamos loucos porque bebemos?
A mania do F. P. pelos jornais que ele não lê. A razão. Os livros também. Um livro de matemática em alemão.
Havia no hospício um louco completamente imbecil, cuja mania era tirar os troços da cama de um e levá-los para as de outros. Constantemente fazia isso. Hoje, 26-1-20, desapareceu-me um livro que me fora oferecido, dentre os três que ali tinha. Além do mutismo e ficar ereto nos cantos, a sua mania era esta. Tive-o sempre em antipatia, e o fato, que me aborreceu muito mais, aumentou a minha antipatia por ele. Os furtos aqui, antes dele, eram de onde em onde; agora se sucedem com freqüência. É preciso saber que não tenho dormitório e tudo que tenho – livros, toalha, papel, sabonete, etc. – guardo debaixo do travesseiro ou do colchão.
Na primeira vez que aqui estive, consegui não me intrometer muito na vida do hospício; agora não, sou a isso obrigado, pois todos me procuram e contam-me mexericos e novidades. Esse convívio, obrigado, com indivíduos dos quais não gostamos, é para mim, hoje, insuportável e ainda mais esse furto e as minhas apavorantes dívidas fazem-me desejar imensamente sair daqui. O médico me ofereceu alta, mas não aceitei já, porque só quero sair depois do carnaval. Demais, eu penso que o tal delírio me possa voltar, com o uso da bebida.
Ah! Meu Deus! Que alternativa!
E eu não sei morrer.
Sarará das drogas, o tal chibante, tem o cabelo crespo. Para assentá-lo, usa uma touca e naturalmente vaselina. Dorme com a touca e a usa pela manhã em fora.
V. O., desde dias, vinha brigando com M. Antônio, guarda, o substituto de Dias, na inspetoria da seção. Sabendo aquele que ele tinha uma tesoura em seu poder, tomou-a. Ele se enfureceu e disse que tinha um punhal; deram uma busca mais rigorosa e descobriram que ele furtava roupas particulares de outros doentes, cujas marcas trocava. Além disso, encontraram uma chave da porta dos fundos.
O caso dos jornais atrasados e a sua prisão no dormitório-cárcere.
A sala de bilhar é uma das melhores peças da parte do edifício que ocupamos. Fica no extremo da ala esquerda do hospício. Tem três janelas de sacada para a frente, que olha para o mar; e três outras do lado esquerdo. Já foi melhor mobiliada. Nas paredes há quadrinhos, com recortes de revistas ilustradas, emoldurados modestamente com passe-partout improvisados. Representam castelos nas pontas de montanhas, com torres cilíndricas com os tectos cônicos, das condessinhas do século XIII ou XIV, paisagens de Estaque, no inverno; uns carvalheiros sem folhas ou peupliers tristes. Há um desenho de um senhor gordo deitado num divã rico, ele mesmo em vestuário de baile, que me parece ser de Leandro.
Quem teve esse trabalho de decoração? Há vestígios de que foi pessoa de gosto e educação.
Dia 27-1 -20.
Logo após o café, o V. O. provocou um barulho dos diabos com o F. P., porque este tinha sido transferido para um quarto melhor, com cômoda, etc., e não pagava nada, enquanto ele pagava quinze mil-réis e não tem essas regalias. Trocavam insultos mutuamente os mais vis e baixos. V. O. mostrou todo o seu fundo de soberba, de presunção, de vaidade e mesquinharia. Entretanto, ele não paga.
Tem-se na conta do doente mais rico, mais importante, o que mete medo aos guardas, aos médicos, ao pessoal superior.
A sua loucura veio-lhe da vaidade doentia.
O T., o tal que matou o rival em amor, diz que viveu doze anos num ovo.
V. O. tem o riso algo parecido com o J. B. e algumas vezes sublinha as frases com contrações da fisionomia e do canto dos lábios, e tem gestos parecidos com ele.
O riso é antipático. Dostoiévski diz que se o riso de um desconhecido é agradável, ele é homem honesto. O do V. O. é desagradável, soa como um chocalho de coco ou cabaça.
Há outro caso de imitação entre loucos: um doente que esteve na minha seção foi transferido para outra e lá espiava o A., que vivia pelas salas e corredores a dizer coisas desconexas, palavrões, e repetir, a espaços, a palavra pinacoteca, derivadas e ou acompanhadas de outras, que não fazem sentido com ela. Ao imitador não vi, mas fui informado por pessoa segura que andava de um lado para outro a dizer: pinacoteca, Piabanha.
O doente borrado, seminu, o seu aspecto horripilante.
O seu maneio de sombra no corredor.
Gabrielle Coni – Vers l’oeuvre douce e Fleurs de l’air.
Annuaire international du crédit public.
Attala.
Dia 27-1-20.
Revolta dos presos na casa-forte, às sete horas da noite. Baderna, etc. A revolta é capitaneada pelo D. E., o tal que subiu no telhado. Estão chegando bombeiros e força de polícia. Previ isto. Os revoltosos são vizinhos de quase metade da Seção Pinel. Armaram-se de trancas. Vejo-os cá de cima. O resto da Seção Pinel mantém calma. A nossa está quase sem guardas nem enfermeiros, mas a atitude de todos é de curiosidade. Um acontecimento desses quebra a monotonia e distrai. O Ferraz diz que o Santana é vítima de inimigos traiçoeiros, por ser mulato. Santana é um velho empregado da assistência e muito bom para os doentes em geral. Ferraz, em seguida, acrescenta que ele é um homem velho, tem quatrocentos e vinte anos, já foi Márcio Néri e outros despautérios que eu não pude guardar; mas pode com eles todos. O que é evidente é que alguém fornece meios e modos ao D. E. para ele fazer esses escândalos todos, no intuito de desacreditar alguma pessoa influente no hospício ou mesmo toda a diretoria. A rua encheu-se; há um movimento de carros, automóveis com personagens, e força de polícia e bombeiros; há toques de corneta – um aspecto de grosso motim.
Consta que ele lançou cimentos e varões de ferro. Já tenho medo de ficar aqui.
Há alguns que não são aparentemente doentes, mas que em dados momentos se denunciam em contrário. Os epilépticos, os sujeitos a certas manias que têm um delírio de tempos em tempos. Conheço o E. P. desde que entrei aqui, como homem polido, de certa educação, serviçal, não aparentando a menor mania, senão a de não sair daqui. Foi estabelecido com tabacaria e mostra ter boas relações de amizade. Uma vez atrasou-se no banho; o guarda, ao passar pelo banho para o café, disse-lhe uma coisa sem importância, ele vestiu-se rapidamente, chegou a tempo, o guarda repetiu uma pilhéria sem alcance e, por isso, ele se fez pálido, beiços roxos e tremendo que nem uma pilha. Que seria capaz de fazer?
28-1-20.
O diretor proibiu a entrada dos jornais.
O F. P. atirou fora os abacates que lhe deram, porque os temperaram com açúcar de terceira. Ele é branco de primeira ordem e não negro, nem mulato, para usar tal açúcar.
O nu no hospício. A Liga pela Moralidade. Poucos homens bem feitos; o mesmo no banho de mar. Um único eu vi no hospício. Era um rapaz moreno, olhos e sobrancelhas negras, assim como os cabelos, de um negro bonito e luzente. Perfeitamente imbecil, olhava-me com um sorriso parado, sem dizer nada e nada pedir.
Os jornais foram proibidos, mas todos tinham jornais, entre eles o F. P. e o tal engenheiro C. P. Aquele meço bem alto, que não emprestava a ninguém, olhando para mim, ele que não cessa de pedir-me cigarros, fósforos, jornais e até dinheiro, eu lhe dei para comprar revista. Contudo, o Gastão dos cigarros guarda um para mim. O maluco é em geral mau e egoísta, especialmente o Porto, cujo delírio é de grandeza. Raro é o liberal e agradecido. Só aqueles que caem em profunda loucura é que perdem o sentimento de propriedade. Descobri quem me furtou o livro. Foi o Gato a quem tratei bem e nunca lhe atirei chufas. Deu-o ao Gastão, que viu meu nome e não mo restituiu. Este G. é um rapazola de que já falei, e não tem nada de louco. Simplesmente sujeito a ataques. A Esse tempo, agarrou de aborrecer-me muito, tenho feito muitos obséquios. Este pequeno tem de sair daqui, por força; é muito moço e não tem cura; mas terá um mau destino.
Convém falar no J. C., de Santa Teresa, um louco. A sua loucura. A história dos seus estudos, as suas crises, apelo a misticismo, vícios, etc.
Custa a crer que esses loucos, dois principalmente, V. O. e F. P., me aborrecem e irritam-me. Esqueço de que são loucos e dá-me vontade de vociferar. Vou pedir alta, para não dar essa demonstração de loucura.
– "Un partenaire au jeu est un individu trés émerdant. Toujours il me demande: Est-ce que vous connaissez monsieur un tel? En attendant ma repouse, il dit: Ce monsieur un tel est marié avec ma cousinne qui est fille du docteur un tel. Connaissez vous? – Non. – Au moins le docteur... II a été une notabilité à Valparaiso. – Non. J’avait dit à lui que je suis été au Hospital Central. – Vous avez connut sans doute le general Travassos. Je me fache et en tire faché. Je dit: – Hier j’ait dit ainsi que je mis été au H. C. le dernier année. Oh! Mon Dieu de la France! J’étouffe."
F. Porto diz que é tão inteligente que, depois de seis meses de estudar latim, pôs-se a declinar grego, enquanto o irmão levou dois anos para traduzir Virgílio.
O Torres matava camundongos, pelava-os, estripava-os, para dar aos gatos, a fim que não tivessem trabalho de fazer isto.
As rixas! Os heróis delas.
A loucura do cigarro. Um doente, homem rústico, tipo de nosso roceiro, veio para o meu dormitório. Nos primeiros dias, passou bem; mas, não recebendo visitas e, conseqüentemente, fumo ou cigarro, perdeu a quietude e ficou doido. Descrever a noite.
No salão, havia um recorte representando uma pescaria de fúcea feita por mulheres de coifa, à noite ao luar.
Telefone do Schettino – 3863 C
"As leis são como as teias de aranha que prendem os fracos e pequenos insetos, mas são rompidas pelos grandes e fortes." – Palavras de um sábio cita Anacársis, citado por Plutarco, na vida de Sólon.
A., primeiro, repetia – suavemente perfumas a tua lembrança – frase que ele encontrou num livro que me deram.
Este mesmo fez-me ler, na biblioteca, a Dor do Alcindo, com má prosódia, em que pronunciava "inercia" e "esteríl." Aconselhou-me que a lesse, porque educaria melhor o meu espírito que o livro de Renan que estava lendo. Lia um artigo sobre Amiel. A Dor está no volume 24 da Biblioteca das Obras Célebres.
Leio o Plutarco (hospício) vida de Coriolano a Alcibíades. Ambos puseram os seus talentos a serviço dos inimigos de sua pátria, por despeito de serem perseguidos politicamente. Temístocles matou-se. O beócio P. considera todos os três homens ilustres; hoje, aqueles dois não tomariam arma, mas vendê-la-iam em convênios e declarações de guerra, mediante ouro do estrangeiro.
Não esquecer o poltrão do Veiga. Tipo de débil mental.
2ª parte: CEMITÉRIO DOS VIVOS
[FRAGMENTOS]
Quando minha mulher morreu, as últimas palavras que dela ouvi, foram estas, ditas em voz cava e sumida:
– Vicente, você deve desenvolver aquela história da rapariga, num livro.
Ainda durou cerca de dois dias, mas quase sem fala. Balbuciava unicamente; em geral, não entendia o que queria por aí, mas pelos gestos e sinais que fazia.
Nas ocasiões em que me aproximava dela, nos seus últimos momentos, o seu olhar de moribunda tinha uma doce e transcendente expressão de piedade. Era como se ela dissesse: "Vou morrer! Que pena! Vou deixá-lo só por este mundo afora".
Para o filho, que andava próximo dos quatro anos, não lobriguei nos seus olhos uma tão profunda manifestação de comiseração. Parecia-lhe, certamente, que ele seria mais feliz do que eu. Não sei, não me recordo se, logo após a sua morte, pus-me a pensar nas suas palavras, a bem dizer as últimas, e no meu casamento e outros fatos domésticos. Mas o certo é que elas me ficaram gravadas; e nunca mais se foi de mim a imagem daquela pobre moça a morrer, com pouco mais de vinte e cinco anos, e o sentimento da dor que se lhe estampava no olhar místico, por me deixar no mundo, dor que não era bem de mulher, mas de mãe amantíssima.
O melhor é contar como foi o meu casamento, um pouco da minha vida, para que se possa bem compreender porque esse espetáculo doméstico, em geral de tão pouco alcance, trouxe para mim conseqüências desenvolvidamente dolorosas, um verdadeiro drama psicológico e moral, que todas as satisfações posteriores não puderam dar termo na minha consciência, nem tampouco o trabalho e o vício.
A minha história de casamento é singular. Vou narrá-la. Como toda a gente, quis ser "doutor" em alguma coisa. Não tendo quem me custeasse os estudos, logo pelos dezessete anos, com uma falsa certidão de idade, fiz um concurso em uma repartição pública e obtive um pequeno lugar de funcionário. Minha família vivia fora do Rio de Janeiro; e eu, apresentado por outro colega, fui morar na pensão da viúva Dias, à rua XXX. Canhestro e tímido, apesar de ter vivido fora do ambiente doméstico, em internatos, no meio de meninos e rapazes desenvoltos, nunca fui dado à sociabilidade feminina, muito menos a namoros, e sempre que, por esta obrigação ou aquele obséquio, me impunham a tomar parte em sociedade de moças e senhoras, saía daí aborrecido. No dia seguinte, fazia um exame retrospectivo dos fatos da véspera e verificava, com amargura e vexame, que tinha dado tal "rata", tinha sido ridículo, por isso, por aquilo, e jurava não mais me meter em semelhantes rodas.
Crente da minha irremediável inabilidade para tratar com damas de todo o jaez, evitava-lhes o comércio o mais que podia. Se minha irmã me pedia, lá donde estava, que comprasse qualquer coisa em loja servida por moças, dava a encomenda a outrem, para executá-la, mediante ou não gratificação. Até agora, ainda de todo não perdi essa cisma, pois evito comprar selos a funcionários de saias.
Com esse gênio, não me agradou muito quando deparei na pensão uma moça de pouco menos idade do que eu, vivendo familiarmente com os fregueses. Era dona Efigênia, a filha da dona da casa, que superintendia o serviço na sala das refeições. Guiava o copeiro, ralhava-o, atendia as reclamações dos fregueses; enfim, como já disse, vigiava na marcha das refeições das pensionistas, no salão a elas destinado.
A velha, sua mãe, dona Clementina, ficava lá nos fundos, dosava os pratos, racionava, como se diz hoje, e fazia outras miudezas da copa.
A descoberta da moça quase me fez abandonar o hotel de dona Clementina Dias, no fim do primeiro mês; mas temi agastar o meu colega e parecer-lhe ao mesmo tempo ridículo, se confessasse o motivo. Contudo, no começo, envergonhado, quer para uma, quer para outra refeição, esperava-o sempre para tê-lo como companhia.
Dona Efigênia, que deu com o meu embaraço, veio ao meu encontro. Respondi-lhe às perguntas, mas temia encará-la. Com quase vinte anos, habituado a todas as troças de rapazes, ficava que nem um seminarista diante daquela moça.
Furtivamente, eu a observava. Não era feia, nem bonita. Pequena, mesmo miúda, com uma cabecinha minúscula de cabelos escassos, parecia uma gatinha, com os seus olhos estriados muito firmes de mirada, agachada na escrivaninha alta, donde dirigia o serviço do refeitório e aonde ficava melhor, com mais elegante figura, do que de pé, quando a isto era obrigada, para providenciar sobre qualquer coisa em cima das mesas, às importunações e reclamações de um dos fregueses de sua mãe.
Assim, nessa postura, ficava inteiramente insignificante, e o seu lindo olhar de força e penetração se sumia todo na justeza de sua figurinha; e na rua, então, ainda mais...
Não gostava de vê-la senão na escrivaninha alta, sobre um estrado; e era onde, positivamente, apreciava os seus olhos pardos, pequenos, penetrantes, como que estriados, ao redor das pupilas negras.
De onde em onde, ela os punha sobre mim, denotando uma grande vontade de me adivinhar, e eu fugia deles com medo de me trair.
No fim de dois meses, ela me fez as perguntas do costume sobre os meus estudos e os meus avanços neles. Aborrecia-me com isto, porque já começava a aborrecer-me com eles. O que os estudos normais e consagrados do Brasil me podiam dar, eu já supunha ter obtido; o mais era ter um título de que me não iria servir e só me serviria de trambolho e enfeite de botocudo.
Não me queria absolutamente ignorante nas ciências físico-matemáticas e estava seguro de que as noções que tinha eram suficientes. As carreiras especiais, em uso na nossa terra, não me tentavam, tanto mais que sabia eu, pois tinha percebido logo após a minha matrícula, que em nenhuma delas se enriquece ou mesmo se sobe em honrarias, sem ter nascimento ou fortuna, ou senão empregando muita abdicação de suas opiniões, ou – o que é pior – perdendo muito de sua autonomia e independência intelectual na gratidão por seu protetor.
O meu esforço em "formar-me", como se diz por aí, era para atender a um capricho de meu pai, que, até o último momento de vida, desejou isso, para vingar-se.
É caso que ele tinha um parente ou contraparente, com quem viera às mãos por causa de uma questão de herança do avô, meu bisavô, portanto, e dera-lhe uns tiros. Processado, fora absolvido, mas não deixou de passar um ano na cadeia e sofrer o suplício moral do júri. Nunca me contara isso, mas todos que ouvi a respeito eram unânimes em dizer-me que esse tal meu primo era um fanfarrão, presunçoso de seu título de engenheiro pela Bélgica ou Estados Unidos. Tratava com muito desprezo o meu pai, e este o suportava, porque fora amigo do irmão, pai dele, de quem não tirara a bondade e o carinho.
Antes do doloroso fato, demonstrava publicamente não querer relações estreitas com meu pai e, a quem o inquirisse sobre a natureza de seu parentesco com o meu genitor, respondia desdenhoso:
– É, é meu parente; mas muito longe.
Acredito que dissesse isso, porque meu pai ainda tinha em muita evidência traços de raça negra; e o meu primo, o doutor belga, como todos os antropologistas nacionais, põe os defeitos e qualidades da raça nos traços e sinais que ficam à vista de todos.
No suspeito doutor americano, eles se haviam detido muito, apesar do cabelo liso e cor de fogo.
Apesar dos tiros terem todos errado o alvo, o seu ódio se sentiu cevado. Casou-se meu pai, vindo eu a nascer em breve, e todo o seu esforço foi encaminhar-me para a formatura, numa escola nacional, bem direitinho, para dar uma outra lição no filho do seu irmão mais velho, que o era em muitos anos sobre ele, numa diferença de quase vinte.
Comecei cedo a fazer os preparatórios, senão com brilho, ao menos com muita segurança; e cedo acabei-os; mas sobrevieram dificuldades de família, meu pai enfermo veio a morrer, fiquei sobre mim, longe de minha mãe e dos meus irmãos.
Tinha grandes ambições intelectuais, um grande orgulho de inteligência, mas não sentia nenhuma atração pelo "doutorado" nacional, eu visava o Kamtchatka, os países exóticos, as regiões defesas à inteligência.
Ainda mais: era meu propósito ambicioso de menino examinar a certeza da ciência e isto – vejam só os senhores – porque, lendo um dia, nos meus primeiros anos de adolescência, uma defesa de júri, encontrei este período:
"O réu, meus senhores, é um irresponsável. O peso da tara paterna dominou todos os seus atos, durante toda a sua vida, dos quais o crime de que é acusado, não é mais do que o resultado fatal. Seu pai era um alcoólico, rixento, mais de uma vez foi processado por ferimentos graves e leves. O povo diz: tal pai, tal filho; a ciência moderna também."
Muito menino, sem instrução suficiente, entretanto, semelhante aranzel me pareceu abstruso e sobretudo baldo de lógica e em desacordo com os fatos. Conhecia filhos de alcoólicos, abstinentes; e abstinentes pais, com filhos alcoólicos.
Demais, um vício que vem, em geral, pelo hábito individual, como pode de tal forma impressionar o aparelho da geração, a não ser para inutilizá-lo, até o ponto de determinar modificações transmissíveis pelas células próprias à fecundação? Por que mecanismo iam essas modificações transformar-se em caracteres adquiridos e capazes de se constituírem em herança?
Não sabia responder isto e até hoje não sei responder, e ainda mais se me perguntava, nesse caso de alcoólico: no ato da geração, dado que fosse a verdade essa sinistra teoria da herança de defeitos e vícios, o pai já seria deveras um alcoólico que tivesse as suas células fecundantes suficientemente modificadas, igualmente, para transmitir a sua desgraça ao filho virtual?
Menino, pouco lido nessa coisa, como ainda hoje sou, a afirmação daquele advogado de júri me pareceu menos certa do que se ele dissesse que um desvario, um mau gênio, tinha feito o seu constituinte errar, pecar, roubar ou assassinar. É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, do que querer mascará-la em explicações que a nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele imediatamente, e para as quais as justificações com argumentos de ordem especial não fazem mais do que embrulhá-las, obscurecê-las a mais não poder.
Sou, e hoje posso afirmar sem temor, sujeito a certas impressões duradouras, tenazes, que me acodem todos os dias à lembrança, por estas ou aquelas circunstâncias aparentemente sem relação com o fundo delas. Não sei nunca por que me ficaram e, as mais das vezes, não posso verificar o instante em que elas me ficaram.
Lembro-me de um grande pé de eucalipto que havia na estrada da casa de um amigo de minha família, e isto vi quando tinha sete anos ou menos; lembro-me de uma cadeira de jacarandá, estilo antigo, com um alto e largo espaldar, em que minha avó materna sentava-se, tendo os pés num tamborete e todos os netos sentados no chão a ouvir-lhe histórias ou a responder as suas perguntas afetuosas, e ela morreu antes de completar eu vinte anos; entretanto, não tinha a menor lembrança de fatos importantes que se deram depois, quer domésticos, quer particulares a mim, quer públicos.
Não me recordo mais quais foram os meus examinadores de História Universal, dos seus nomes, nem das suas fisionomias. Só me lembro de que todos os três eram velhos, bem velhos, e me tratavam filialmente.
Tinha, entretanto, já treze anos de idade.
Esse fraseado de advogado, que mais acima citei, jamais me saiu da memória. De mim para mim pensei: se um simples bêbedo pode gerar um assassino; um quase-assassino (meu pai) bem é capaz de dar origem a um bandido (eu). Assustava-me e revoltava-me. Seria possível que a ciência tal dissesse? Não era possível. Havia ali, por força, uma ilusão científica, um exagero, senão uma verdadeira imperfeição; e o meu pensamento de menino foi estudá-la, mas bem depressa, depois que a freqüência das prédicas positivistas deram-me, por negação, algumas vistas sobre as bases metafísicas das ciências, planejei estudá-las, decompô-las e marcar o grau de exatidão dos seus métodos, a sua conexão com o real, a deformação que ele trazia ao que passava de fato bruto para o dado na teoria científica; havia de aquilatar a colaboração da fatalidade da nossa inteligência nas leis, na contingência delas, as idéias primeiras – todo um programa de alta filosofia, de alta lógica e metafísica eu esboçava nas voltas com o cálculo de "pi".
Parecia-me que estávamos, quanto à experiência, ao método experimental, caindo nos mesmos erros e exageros que os escolásticos medievais com os seus princípios aristotélicos, seus silogismos e outras ilusões e preconceitos lógicos, bem etiquetados, enfileirados e disciplinados. Sobretudo, no que tocava aos confins da biologia e do que chamam sociologia ou estudos sociais, havia vícios insanáveis de pensar, e tudo o que parecia indução, resultado de experiências honestas e conclusões de documentos que os eqüivaliam, devia merecer uma crítica rigorosa, não só dessas experiências e documentos, como também dos instrumentos de observação e de exame – crítica que, neste e naquele ponto, já vinha sendo feita por espíritos mais livres, mais ousados, libertos das tiranias da tradição das academias e universidades.
Tinha firme o propósito, quando pisava a pensão, de abandonar o que vulgarmente se chama, entre nós, estudos superiores e fazer com todo o afinco, segundo programa meu e o destino que tinha em vista, o que entendesse e da forma que entendesse.
Por isso eu me aborrecia, como já disse, quando dona Efigênia, com toda a sua unção de mulher e de moça, me perguntava pelos meus estudos oficiais.
De acordo com o meu sistema, a ninguém fizera confidência dessas minhas tenções. Tinha para mim que todos, admitindo que eu fosse capaz de tudo ser, até poeta, haviam de rir-se do meu singular e estupendo plano de trabalhos intelectuais. Se não me julgassem totalmente incapaz, certamente haviam de aconselhar-me:
– Bem! Está direito! Mas você pode formar-se, pois uma coisa não impede outra.
Impedia, sim. Com o diploma, o "pergaminho" da superstição popular, não permitia a censura geral que havia de reagir sobre mim, que ficasse eu copiando ofícios numa repartição do governo. Tinha que obter um emprego adequado ao meu título, para isto era necessário dar passos que me repugnavam: arranjar pistolões, mendigá-los mesmo, para me colocar e, de acordo com a alta conta em que então tinha as minhas faculdades mentais, para não fazer feio, estudar, estar ao par das coisas da profissão de que o Estado me investira solenemente, num canudo de folhas-de-flandres, curtindo um papel encorpado e uma caixa de prata com selo de lacre.
Sobretudo este último passo não me convinha dar. Queria depender, o menos possível, das pessoas poderosas, as únicas capazes de me darem um emprego, e, conquanto elas nada exigissem, eu ficava tacitamente obrigado a não expender umas certas opiniões radicais sobre várias questões que as podiam interessar proximamente. De resto, aplicar-lhe, ao estudo de uma profissão liberal, o que exigia o meu amor-próprio, se a fosse exercer, seria desviar da aplicação normal, da inclinação natural e espontânea da minha inteligência, que não me levava para isso.
Sem nenhuma autoridade moral sobre mim, pois a única que tinha era meu pai, que morrera, estava firmemente decidido a executar o meu plano de vida, sem atender a conselhos quaisquer.
Mandaria às urtigas o "pergaminho", o canudo, o lacre, o grau, o retrato de tabuleta, numa casa de modas na Rua do Ouvidor, e resignar-me-ia a ser tratado desgraciosamente por "seu fulano".
Aquele ano em que fui para a pensão da viúva Dias, ainda resolvi freqüentar, por minha conta e risco, sem cuidar da seriação oficial das matérias, certas aulas da escola, para aprender umas dadas noções e idéias que julgava necessário tê-las; mas, no ano seguinte, não mais lá iria. Foi quando apareceu dona Efigênia.
Apesar de fugir dela, a moça estava sempre a puxar-me pela língua. Não sabia a que atribuir essa irresistível simpatia que se denunciava assim por mim. Não me tinha como repelente, julgava-me mesmo simpático para os rapazes e homens; mas supor que o mesmo fosse para raparigas e moças, era vaidade que não penetrava em minha pessoa.
Ao menor pretexto, conversasse ela qualquer coisa com outro comensal da pensão, voltava-se para mim e indagava:
– Não é, seu Mascarenhas? Não é assim? Não é isso?
E deitava sobre mim aquele seu olhar de flecha, que fazia baixar o meu, timidamente.
Estava sempre a procurar jeitos e modos para que eu falasse. Ora falava-me na guerra russo-japonesa, ora sobre os méritos de uma dessas efêmeras celebridades que os jornais noticiavam a sua estadia; e eu respondia com muito acanhamento e timidez, e até, em começo, com certo mau humor.
Aos poucos, porém, fui perdendo o medo; e, por fim, já dava respostas mais longas, sustentava a palestra, levantava o olhar, não me limitando a respostas secas e curtas.
Seguiu-se o capítulo dos livros emprestados: romances, livros de versos. Com as minhas fumaças de filósofo e sabichão adolescente, desdenhava tudo isso, muito tolamente, porque ainda não houve sábio ou filósofo de verdade que os desdenhasse, a não ser os do Brasil, que o são em família e, mal morrem, todos se esquecem deles e da sua portentosa mentalidade inovadora.
As minhas leituras literárias eram poucas. Em menino, lia os autores nacionais: Alencar, Macedo, Manuel de Almeida, Aluísio, Machado de Assis; e também os poetas: Gonçalves Dias, Varela, Castro Alves e Gonzaga, de quem soube de cor várias liras da Marília de Dirceu. Júlio Verne, porém, era o meu encanto, pois me fazia sonhar no concreto de novas terras, novos mares, novos céus e até novos meios diferentes dos possíveis de admitir, mesmo imaginando.
Depois dos dezesseis anos, pouco procurei literatura, a não ser o Paulo e Virgínia, o D. Quixote, o Robinson, que são livros geralmente conhecidos e universalmente prezados.
Não os tinha porém, para emprestar à moça, e tive que os pedir, por empréstimo, para ser galante e serviçal.
A mos emprestar, era um meu colega, Nepomuceno, positivista simpático, pela mão do qual fui às conferências do senhor Teixeira Mendes e a outras festividades da Religião da Humanidade. A minha passagem pelo positivismo foi breve e ligeira. Freqüentei o apostolado cerca de um ano; mas, apesar de me ter convencido de muita coisa da escola, eu, até hoje, nunca pude acreditar que aquele conjunto de doutrinas, capazes de falar e seduzir inteligências, fosse capaz de arrebatar corações com o ardor e o fogo de uma fé religiosa.
Deu-me, entretanto, a freqüência daquela curiosa igreja, o gosto pelas leituras de autores antigos, dos mestres que todos nós, em geral, só conhecemos de nome ou por citações de citações.
Lembro-me bem que lá adquiri uma brochura do Discours de la Méthode, de Descartes, em tradução. Lia-a com atenção, sem fadiga, antes com prazer. O que me encantou no livrinho do filósofo francês foi preconizar ele a dúvida metódica, senão sistemática, a tábua rasa preliminar, para se chegar à certeza. Quando, mais tarde, pude ler, nos resumos, as suas Meditações Metafísicas, a minha admiração cresceu ainda muito, aumentou sobremaneira, não tanto que o seguisse tão rápido quanto ele, da análise e da crítica, à construção final... Demorava-me na análise...
Além disto, gostava de História e dos estudos históricos e sociológicos das civilizações; dos filósofos franceses do século XVIII, constituí durante muito tempo minha leitura predileta. Tive mesmo, por aqueles tempos, um magnífico exemplar da Esquisse d’un tableau du progrés de l’espirit humain, seguido de vários opúsculos de estudos sociais de Condorcet, exemplar que não sei que sumiço teve.
Com tais leituras rebarbativas, senão pedantes, e a biblioteca ortodoxa do Nepomuceno, via-me às vezes muito embaraçado, quando dona Efigênia me pedia:
– Doutor Mascarenhas, o senhor não tem os versos do Bilac?
Não me vinha felizmente a burrice de dizer que os não lia; mas, constrangido, dizia que não tinha. Se dissesse mesmo que não lia, seria rematada hipocrisia, pois o fazia com emoção e gozo, em toda a parte que os encontrava.
A moça, porém, insistia:
– Veja se me arranja.
– Vou ver.
Dava-me com um rapaz do Ceará, meu colega de curso, de nome Chagas, vadio que nem ele, mesmo estróina e desregrado, mas inteligente, bom camarada e dado a versos e a poetas, em cujo meio vivia. Possuía muitos livros de versos e outros de autores literários que eu me abstinha de ler. Morava na mesma casa de cômodos que eu, à rua do Lavradio, o famoso 69, que conheceu gerações e gerações de estudantes. Era um sobradão de dois andares e loja, que devia ter sido construído nos fins da Regência ou no começo do Segundo Reinado, forte, com amplas salas, áreas, mas assim mesmo escuro, iluminado somente por aquela meia-luz dos templos e dos mosteiros. Chagas levava na troça o meu positivismo, mas éramos amigos. Pedi-lhe o livro de Bilac. Ele sorriu e disse-me, entre malicioso e contente:
– Você está namorando, Mascarenhas?
– Porquê? Homessa!
– Qual! Você, positivista, lendo Bilac – não é possível! Isto é para "alguém", seu manata! Vou emprestar a você o Bilac e é já!
Nunca me tinha passado semelhante coisa pela cabeça, pois me julgava completamente inapto para semelhante atividade e conformava-me orgulhosamente, por julgar tal incapacidade de bom augúrio, para realizar os estudos que meditava. Chagas, porém, fez-me ver melhor a mim mesmo, examinar mais detidamente as minhas atitudes diante da moça e as modificações que elas tinham sofrido, naqueles oito meses de convivência pelo jantar e pelo almoço. Não deixava de ter ele razão, em parte...
Não me assustei com a descoberta e, daí por diante, as minhas relações com a moça, filha da dona da pensão, se estreitaram; e a minha solicitude pelas suas leituras chegou a tal ponto, que eu mesmo comprei livros para emprestar-lhe e até lhe dar. Ela passou a chamar-me somente por "doutor"...
Uma manhã, levei Chagas a almoçar comigo. Chagas era um excelente rapaz de coração, generoso, cavalheiro, poeta sem verso nem prosa, mas tomava para mexer comigo, no dizer familiar, uma atitude satânica e cínica. Logo que entrou e deu com a moça, disse-me em vez baixa:
– Olha que ela não é má, Mascarenhas. Para Musa é pouco escultural, tem muito pouco de Deusa; na rua das Marrecas, há mais perfeitas; mas, para o fabrico dos feijões e dos bebês, deve ser excelente.
Fechei a cara e Chagas não continuou nesse diapasão.
Veio o Pinto, um dos fregueses da viúva Dias, e, não havendo lugar nas outras mesas, sentou-se na nossa, justamente na cabeceira. Empenhou-se em uma conversa com Chagas, sobre Zola. Esse Pinto era um rapaz do comércio, que vim encontrar mais tarde em circunstâncias bem tristes e de que falarei com vagar no decorrer desta narração; era inteligente, curioso, razoavelmente lido, tendo feito a sua educação e instrução por si. Gostava de Zola, mas Chagas, que era nefelibata, decadente, símbolista ou coisa parecida, detestava o romancista francês.
Tanto eu como o Pinto, pouco ou nada sabíamos dessas coisas de escolas literárias; e Chagas, apesar de enfronhado e devoto desses assuntos de literatura, não explicava claramente, nitidamente, a diferença ou as diferenças que existiam entre elas. Falava nevoentamente, com grande calor, frases bonitas e novas; mas não as definia cabalmente. A discussão foi absolutamente inócua, mas a moça seguiu-a com atenção e, com algum travo de ciúme, observei que ela bebia, saboreando, o palavreado de Chagas.
No dia seguinte, ou no jantar desse mesmo dia – não me recordo bem – ela, mal me sentava à mesa para tomar a refeição, ela se dirigiu a mim e perguntou-me:
– Doutor Mascarenhas, aquele seu camarada que almoçou consigo, falou nos Cegos, de um autor belga, cujo nome...
– Maeterlinck.
– É isto. Ele terá?
– Não sei; mas, se tiver, há de ser em francês.
– Não faz mal; serve assim mesmo.
Muito indelicadamente, perguntei sem reflexão:
– A senhora lê francês?
– Com dificuldade, respondeu ela, mas leio. Aprendi com as irmãs, no colégio.
Trouxe o livro que, de fato, Chagas possuía; e esse episódio me passou com muitos outros que, por aqueles tempos, me pareceram sem importância.
Escrevendo estas linhas hoje e percorrendo na lembrança toda a minha vida passada, causa-me assombro de que, em face de todos esses episódios, a minha atitude fosse de completo alheamento. Mais do que os grandes acontecimentos, na nossa vida, são os mínimos que decidem o nosso destino; e esses pequenos fatos encadeados, aparentemente insignificantes, vieram influir na minha existência, para a satisfação e para o desgosto. Entretanto, quando se davam, eu me limitava a responder o que ela me perguntava e, sem força de consciência, fazia uma observação banal.
Foram precisos muitos e dolorosos acontecimentos, erros e guinadas, na minha vida, para que eu os reunisse todos na imaginação e reconstituísse com eles a figura excepcional de minha mulher, que eu não soube ver quando viva.
Não era menino, mas o meu sonho interior, o meu orgulho, o pavor de parecer ridículo, de mistura com uma forte depreciação a que, à minha personalidade, eu mesmo tinha levado, tudo isso e outros fatores difíceis de registrar contribuíram para que eu não visse, ou mal visse, a alma excepcional daquela pobre moça, cujo olhar, onde não havia ódio, me amedrontava como se não fosse humano.
Arrependo-me, embora não me sinta em nada culposo para com ela; arrependo-me por não a ter bem visto e não a ter extremado da massa humana, onde só via indiferença e incapacidade para o amor e para a bondade.
Expiei bem duramente essa minha falta íntima, que tantos sentimentos desencontrados fez surgir em mim, tantas dores deu nascimento, como verão no decorrer destas páginas, que são mais de uma simples obra literária, mas uma confissão que se quer exteriorizar, para ser eficaz e salutar o arrependimento que ela manifesta.
O abismo abriu-se a meus pés e peço a Deus que ele jamais me trague, nem mesmo o veja hiante aos meus olhos, como o vi por várias vezes...
Como ia dizendo, porém, continuei a emprestar livros a dona Efigênia e mesmo lia alguns dos que emprestava, para poder conversar com ela sobre as suas leituras. Assim, pouco a pouco, fui vencendo o fingido desprezo que tinha pela literatura; e, quase sem sentir, dei em me interessar pelas suas coisas. Deixei aquela falsa e tola atitude positivista de só falar em Shakespeare, Dante e Moliêre; e falei sem fingido pudor em outros autores, alguns menores, mas alguns tão grandes quanto aqueles. De há muito eu percebia, mas minha toleima infantil não queria dar o braço a torcer, confessá-la. A convivência com a moça tirou-me afinal desse empacamento de muar letrado.
Deu-se um incidente, por aí, que muita influência teve ao depois no desenvolvimento da minha existência: comecei a escrever.
Animou-me a isto um outro colega meu, camarada íntimo de Chagas, com quem morava e discutia dia e noite literatura.
Era ele dado a escrever versos satíricos aos professores e a coisas de estudantes, para o que demonstrava singular habilidade e uma virtuosidade invejável. Tinha mesmo fundado um jornalzinho de estudante e arrastou-me a escrever nele. Colaborava com artiguetes tímidos, vacilantes, tratando de assuntos adequados ao meio, troças a este ou àquele, pequenos comentários sobre este ou aquele fato. Foi assim que comecei. Houve quem apreciasse e gabasse mesmo; e tratei de aperfeiçoar-me. Tratei de ler os autores com cuidado, de observar como dispunham a matéria, como desenvolviam, a procurar teorias de estilo, e isto, como todo principiante, fui procurar no enfado dos clássicos; mas, bem depressa, abandonei esse sestro e o meu escopo foi unicamente vazar o melhor possível o pensamento que queria vazar no papel.
Tinha um grande medo da gramática, dos galicismos, da regência dos complementos, das concordâncias especiais, por isso os escritos saíam-me cautelosos, numa prosa um pouco dura, sem fluência; mas os outros, assim mesmo, achavam graça no escrito.
Apurei-me, afinei-me, escrevendo duas, três e mais vezes a mesma coisa; e estendi a minha colaboração a jornaizinhos equivalentes ao do amigo de Chagas e, por intermédio dele, meti-me na roda de estudantes literatos que abandonam as letras mal se formam, e também na de profissionais.
Esqueci-me um momento dos meus propósitos de alto debate metafísico, de ferir a Ciência nas suas bases e contestar-lhe esse caráter de confidência dos Deuses, que os pedantes querem dar-lhe, para justificarem a vaidade de que tresandam, por saber dela um poucochito, levando, com as suas asserções arrogantes, tristeza no coração dos outros e discórdia entre os homens.
Certo dia em que me pus a pensar nisso, veio-me a reflexão de que não era mau que andasse eu a escrever aquelas tolices. Seriam como que exercícios para bem escrever, com fluidez, claro, simples, atraente, de modo a dirigir-me à massa comum dos leitores, quando tentasse a grande obra, sem nenhum aparelho rebarbativo e pedante de fraseologia especial ou um falar abstrato que faria afastar de mim o grosso dos legentes. Todo o homem, sendo capaz de discernir o verdadeiro do falso, por simples e natural intuição, desde que se lhe ponha este em face daquele, seria muito melhor que me dirigisse ao maior número possível, com auxílio de livros singelos, ao alcance das inteligências médias com uma instrução geral, do que gastar tempo com obras só capazes de serem entendidas por sabichões enfatuados, abarrotados de títulos e tiranizados na sua inteligência pelas tradições de escolas e academias e por preconceitos livrescos e de autoridades. Devia tratar de questões particulares com o espírito geral e expô-las com esse espírito.
De resto, é bem sabido que os especialistas, sobretudo de países satélites, como o nosso, são meros repetidores de asserções das notabilidades européias, dispensando-se do dever mental de examinar a certeza das suas teorias, princípios, etc., mesmo quando versam sobre fatos ou fenômenos que os cercam aqui, dia e noite, fazendo falta, por completo, aos seus colegas da estranja. Abdicam do direito de crítica, de exame, de livre-exame; e é como se voltássemos ao regímen da autoridade.
A verdade, porém, é que, raciocinando assim, eu não fazia senão justificar-me, iludindo-me, de um desfalecimento no caminho que tinha prometido a mim mesmo trilhar. Não só abandonei os meus estudos particulares, satisfeito como sucesso de estima que tinha obtido no estreitíssimo círculo de estudantes, como também não liguei importância alguma mais às disciplinas escolares.
Adiei os exames e deixei passar as duas épocas, sem prestar nenhum. Pouco demorou que Efigênia não soubesse de minha estréia nas letras; e instasse comigo para que lhe trouxesse os jornais. Trouxe um ou outro e percebi que ela não tinha entendido as croniquetas. Não era possível ser de outra forma. Eram momentos, observações sobre episódios de uma classe, de vida muito à parte, com costumes muito seus e sempre a variar. Um dia, porém, tentei um conto. Havia já uma certa naturalidade na narração, alguma lógica no encadeamento e no desenlace, mas sem frescura de emoção diante das coisas vivas e mortas, e uma falta de ingenuidade doce, que precisava acentuar-se na heroína.
Era a tal história da rapariga que Efigênia me falou na hora da morte... A dar-lhe o continho, não fui eu; e até hoje não sei como lhe chegou às mãos. O certo é que sempre me falou nele, fazendo observações a respeito, como se o tivesse de cor. Ainda me lembro que um dia, já estávamos casados, ela, aludindo ao conteco, me perguntou:
– Por que você não descreveu mais o amor da rapariga?
– Por que você pergunta isto? fiz eu.
– Ora, porquê! Porque ficava mais bonito...
– Tive vergonha.
Ela dardejou sobre mim o seu olhar de malícia, em que não havia o menor sinal de raiva, mas só esforço de penetração, e inquiriu:
– Vergonha de quê?
– Não sei.
Disse isso, vexamos e nos calamos, como não precisando mais de palavras para nos entendermos.
Tenho me alongado em detalhes que parecem não ter interesse algum para o meu primitivo objetivo; mas espero que, quem tiver a paciência de me ler, há de achá-los necessários para a boa compreensão desta história de uma vida sacudida por angústias íntimas e dores silenciosas.
Havia quase dois anos que eu comia na pensão da viúva Dias, quando ela caiu doente. Um ataque prostrou-a, e perdeu movimentos, e tudo levava a crer que morresse ou ficasse paralítica. Parecia não ter parentes no Rio; e, a tal respeito, pouco sabia, pois nunca foi dos meus hábitos essa nacional bisbilhotice doméstica. Daqui e dali, uma frase hoje ou uma recordação amanhã, tinham-me feito crer que ela tinha ainda dois filhos, mas em Mato Grosso. Um, o mais velho, era oficial do Exército e lá vivia muito bem casado, interessado na política local e de lá não queria afastar-se; o outro era o mais moço, mais moço ainda que Efigênia, e vivia com o irmão que, por não poder dar-lhe caminho qualquer, o fizera soldado, depois cabo, mas não conseguindo, por mais que se esforçasse, fazê-lo sargento do seu batalhão.
Só isso sabia sobre a família da velha Dias e, conforme o meu gênio, dei-me por satisfeito.
Durante alguns dias ainda, a moça sua filha, fazendo todos os sacrifícios, dirigiu a pensão; mas, ao chegar o fim do mês, avisou a todos nós que ia fechá-la. Não podia mais; a mãe exigia todos os cuidados, e ela não podia atender as duas coisas ao mesmo tempo: à mãe e ao negócio. Tivéssemos paciência e desculpássemos.
– Por que não vende? perguntou alguém.
– Não posso perder tempo em esperar quem apareça para comprar. Faremos leilão de tudo. Eu, mamãe e Ana vamos morar nos subúrbios, onde talvez minha mãe melhore.
Ana era uma crioula de meia-idade, que chefiava a cozinha. Não era bem uma criada; era uma espécie de agregada desse tipo especial de negras e pretas, criado pela escravatura, que seguem as famílias nos seus altos e baixos, são como parte integrante delas e morrem nelas.
Reparei que, quando Efigênia respondeu daquela forma, olhou para mim, com menos afinco do que lhe era habitual, e que seu olhar, sempre enxuto e polido, tinha alguma névoa úmida, uma angustiosa expressão de dor de quem não sabe ou não quer chorar.
Aquele pequeno drama doméstico, embora seja eu de natural bom, naquela ocasião, não me feriu muito, porque tinha ainda o coração dessecado por disparatadas ambições; agora, porém, relembro, censurando-me a mim mesmo, por não ter sabido avaliar logo o tormento daquela pobre moça, só no mundo, a acompanhar a mãe que mal se movia no leito.
Acabada a pensão, deixei de saber notícias delas, durante três ou quatro meses. Já me passavam mesmo da lembrança, iam ficando no rol das fracas impressões da vida, quando, com espanto, recebo um bilhete de Efigênia, pedindo-me fosse vê-las, numa estação dos subúrbios. "Minha mãe, dizia-me ela, tem melhorado; mas, mesmo assim e por isso, talvez, pede que o senhor venha até cá, em atenção a ela".
Não enxerguei no bilhete coisa alguma de extraordinário. O que me passou pela idéia foi que precisassem de algum recurso de dinheiro e, em falta de outrem, apelassem para mim. Isto me punha em sérios embaraços, porquanto não dispunha de pronto de qualquer quantia e ser-me-ia doloroso negar-lhes o que me pedissem, pois era fácil de supor as suas necessidades. Em todo o caso, disse de mim para mim, vou lá.
Uma tarde, tomei o trem de subúrbios e fui em demanda da casa das pobres senhoras. Viajei despreocupado, sem dar nenhuma importância ao caso. O meu pensamento ia vagabundo para todos os lados, sem me deter em coisa alguma. A observação mais demorada que fiz, foi a da grotesca e imprópria edificação dos subúrbios, com as suas casas pretensiosas e palermas, ao jeito das dos bairros chics, a falta de jardins e árvores, realçada pelos morros pelados, pedroucentos, que, de um lado, correm quase paralelamente ao leito da estrada e quase nele vêm tocará Não parecia aquilo subúrbios de uma grande e rica cidade; mas uma série de vilarejos pedantes, a querer imitar as grandes cidades do país. Totalmente lhes fazia falta de gracilidade e de frescor de meia roça.
Destarte, cheguei à estação em que moravam e fui ter à casa de dona Clementina Dias. Ficava longe da estação, numa rua improvisada, mal delineada pelas casas escassas que se erguiam, tendo de permeio terrenos baldios, onde cresciam árvores de capoeira de certo porte. Por toda a parte, jaqueiras, mangueiras, sebes de maricás, além das essências silvestres de que falei, enfim, muita árvore e muita sombra doce e amiga. Se os arredores da estação tinham um ar pretensioso, de pretender-se um pequeno Rio de Janeiro, aquela rua longínqua, simplesmente esboçada, ensombrada de grandes árvores, atapetada de capim e arbustos, tinha a parecença de uma estrada, ou antes, de um trilho de roça.
Bati na porteira, pois tinha uma, ficando o chalezinho afastado da cerca que bordeava a rua. Era começo de março e os espinheiros dela estavam em flor, tocados de um branco flocoso e macio. Olhei as montanhas distantes; a tarde ia adiantada e elas se enegreciam e douravam-se e prateavam-se...
Abriu-me a porta a moça e, juntos, entramos na casa modesta, cuja planta é conhecida de todos na sua simplicidade mais que elementar. Um quadrado, ou quase isso, divide-se em quatro partes desiguais, as menores são quartos e as maiores salas que se comunicam entre si por uma porta. Um quarto fica do lado esquerdo e dá para a sala de visitas; e outro, do lado direito e tem comunicação para a sala de jantar. Há um puxado, aos fundos, para a cozinha.
Descansei o chapéu na sala de visitas e logo Efigênia me disse:
– Venha ver mamãe.
Abriu a porta do quarto que dava para onde estávamos e nele deparei a velha dona Clementina.
Pareceu-me melhor. Tinha a fisionomia mais repousada. Estava deitada, não bem deitada, assim como que meio sentada, com o busto reclinado sobre grandes almofadas. Os olhos estavam bons e, ao contrário da filha, que tinha nos seus sempre uma grande firmeza, os dela eram incertos, distraídos e erradios, humildes sempre de bondade e não sei de que vaga e indeterminada cisma.
Perguntando-lhe se ia melhor, ela me disse lentamente:
– Sim, vou melhor, doutor; mas vivemos tão sós...
– Nem tanto, dona Clementina. Tem a companhia de sua filha, da Ana, que...
– E do Nicolau, fez a moça.
– Que Nicolau? perguntei eu.
– Aquele que carregava marmitas, explicou a velha senhora. Ele não pára aqui.., vai trabalhar.
– Qual trabalhar! acudiu a Ana, que chegava naquele momento. Não sai das vendas e dos botequins... Uma vez ou outra faz um carreto, um biscate...
– Não digas isso, Ana. Sempre foi bom para nós... Soube da minha moléstia e veio logo nos ver... Que seríamos nós, neste deserto, sem um homem em casa. Ele nos serve e nos ajuda nas medidas de suas posses...
Este Nicolau não era bem preto; tinha a tinta do rosto azeitonada, cabelos lisos e negros, embora a barba e o bigode fossem crespos. Fora praça do Exército e muito chegado ao pai de Efigênia, que morrera capitão. Tendo baixa, quando cismava e deixava os seus empregos de ocasião, procurava a casa da viúva, ajudava-a nisto ou naquilo e um belo dia desaparecia, pois arranjava um trabalho neste ou naquele ponto da cidade e arredores. Corria o Rio de Janeiro, da Penha à Gávea, da Praça do Mercado a Santa Cruz; conhecia-o todo, pois o palmilhava a pé, de bonde, de carroça, de automóvel, só não empregava o cavalo, e, assim mesmo, não se sabe se o fazia nas freguesias rurais.
Nicolau era nortista, do Piauí ou do Ceará, mas viera muito moço para um corpo do Exército, estacionado no Rio de Janeiro, e nunca mais quis sair da capital do país.
– Por que você não vai para sua terra, Nicolau, comer buriti e mangaba?
– Pra que? dizia ele. Aqui tem também boa fruta; o carioca é que não sabe... Olhe: eu sempre acho.
De fato, ele sempre descobria frutas, que trazia a dona Clementina, se não lhe acontecia achar comprador pelo caminho. Era fiel como um cachorro, serviçal, prestável, mas despido de toda a ambição na vida. Não procurava outro prazer na vida senão servir e beber cachaça. Só bebia cachaça; não suportava outra bebida.
Ouvindo o que a mãe dizia a respeito de Nicolau, Efigênia observou com certa dureza:
– Ora, qual! Mamãe! Nicolau não serve pra nada... Se fôssemos fiar nele, estávamos bem arranjados. Ele chega à noite, deita-se e dorme que nem uma pedra até o dia seguinte. De que serve?
– Não diga isso, Efigênia; é sempre um companheiro. Tenha pena.
– Tenho, mas a verdade deve se dizer.
Com intuito de variar de conversa, perguntei de chofre:
– E os seus filhos, dona Clementina?
Ela me olhou com espanto, e eu, atônito, olhei dela para a moça, que parecia censurar-me amargamente com os olhos.
A velha, afinal, falou, e com raiva:
– Não me fale neles! Deixe-me... Deixe-me...
Efigênia chamou-me:
– Venha cá, doutor Mascarenhas. Mamãe quer descansar.
Anoitecia. Ainda havia cigarras retardatárias a chilrear dentro da melancolia do fim do crepúsculo. Quando íamos saindo, a velha chamou:
– Efigênia, endireita-me na cama.
A sua voz já era outra; a filha apressou-se em ajustá-la, em posição conveniente nos travesseiros. Paralítica de um lado, precisava a todo o instante de quem a auxiliasse para tudo. Mesmo com a mão esquerda, que já tinha ganho alguns movimentos, ela não podia afastar os cabelos, quando lhe caíam sobre os olhos, senão com auxílio de alguém. Ao contrário de Efigênia, que os tinha escassos, os da mãe eram ainda abundantes e tinham poucos fios brancos.
Logo que se viu em posição, disse-me:
– Ah! Meu filho! Que suplício! Tenho que, a toda a hora e todo o instante, incomodar os outros... Estar parada não me incomoda tanto, mas... ter que aborrecer todos... e eu... e eu que só tenho essa filha! Coitada!
Sossegou um pouco e continuou:
– O que me aborrece também... O que me aborrece, doutor, é deixá-la só por aí... Se, ao menos, ela...
– Mamãe, sossega! Vamos falar em outra coisa! observou-lhe com alguma rispidez a filha.
Eu e a Ana não dizíamos nada. Nós ambos adivinhávamos que daquele diálogo entre mãe e filha sairia alguma coisa que interessava o Destino.
– Não! Não! fez a velha com teimosia. Disseste que falavas, que confessavas... E tua mãe que te pede, diz a verdade...
– Mas, mamãe!
A velha tinha falado com uma energia pouco comum, com um forte acento de desespero; e a filha, súplice e vexada. Eu não entendia nada daquela cena e a Ana, a quem interroguei com olhos, parecia sem espanto. Sorria a meio até.
Depois do balbucio, dirigindo-se a mim e à Efigênia, dona Clementina continuou com entono de ordem:
– Vocês devem se entender para o meu sossego.. Vão para a sala conversar, enquanto eu descanso um pouco. Ana, acende as lâmpadas.
Não havia meio de eu atinar com o sentido de tudo aquilo. Estava no ar e me parecia ao mesmo tempo estar entre doidos. A viúva ainda ordenou:
– Vão.
E obedeci ao convite de Efigênia:
– Venha para a sala, "seu" Mascarenhas.
Notei a mudança de tratamento e segui-a. Sentou-se ela e uma cadeira e eu também. A porta do quarto estava fechada. A preta Ana ficara do lado de dentro. Ficamos uns instantes calados. A fisionomia de Efigênia era de opressão, de vergonha, de angústia... Parecia sofrer por não poder chorar. Já tinha percebido nela essa dificuldade para o pranto. Não dizia nada. Ao fim de instantes, ousei:
– Mas o que há, dona Efigênia?
– Que há? fez num ofego.
– Sim; o que há?
– Há... sim... há...
Depois, como se tomasse coragem e alento, falou de um só hausto:
– O senhor não me tomará mal, não é?
O tom de voz, o olhar, a atitude toda ela da moça me pareceu de vergonha, de humilhação, mas, ao mesmo tempo, do desejo de dizer, de confessar qualquer coisa que a trabalhava interiormente.
Eu me perturbava, mas respondi com firmeza:
– Não há motivo... Fale, minha senhora; seja franca!
Ela acalmou-se, olhou-me com a sua firmeza habitual de olhar e perguntou-me naturalmente:
– Eu amo, seu Mascarenhas; o senhor quer casar comigo?
Esperava tudo, menos uma pergunta dessas. Vi logo as desvantagens do casamento. Ficaria preso, não poderia com liberdade executar o meu plano de vida, fugiria ao meu destino pelo dever em que estava de amparar minha mulher e a prole futura. Com os anos cresceriam as necessidades de dinheiro; e teria então de pleitear cargos, promoções, fosse formado ou não, e havia de ter forçosamente patronos e protetores, que não deveria melindrar para não parecer ingrato. Onde ficaria o meu sonho de glória, mesmo que fosse só de demolição? Onde ocultaria o meu "pensamento de mocidade"? Havia de sofrer muito, por ter fugido dele...
De resto, mesmo que conseguisse aproximar-me da realização do que planejava, o meu casamento era a negação da minha própria obra.
Apesar de toda a minha superioridade no momento, o meu orgulho me determinava que não desse essa prova pública de fraqueza; que não sancionasse com esse gesto o pensar geral; que não amaciasse o meu desgosto e não o tornasse inútil, para orquestrar superiormente a obra que meditava... Tudo isso me passou num segundo pelo pensamento e só pude responder com uma exclamação:
– Eu!
– Sim; você, Mascarenhas!
Ela percebia bem o meu caráter, o meu natural hesitante e a minha disposição de inclinar-me sempre para o lado simpático. Ela já me governava. Eu tremia.
– Mas, minha senhora, – animei-me – sou apanhado assim de sopetão... A senhora não me conhece bem... Sou cheio de defeitos, de caprichos... Não vá se arrepender...
Não sei como cheguei até aí. Fosse arrastado pela fatalidade da palavra ou determinado por outra qualquer força, o certo é que pronunciei aquele meio "consinto" – "não vá se arrepender".
Parece-me que tinha falado mais alto, a ponto de dona Clementina ouvir lá, de dentro do quarto, e dizer, que eu escutei:
– Também eu quero, doutor!
Havia me esquecido desta. Olhei mais firme a filha. Não tinha mais o aspecto de angústia, de vergonha, de humilhação; os seus olhos não tinham mais aquela vontade incoercível de chorar. A sua fisionomia estava risonha, banhada de alegria. Acudindo à mãe, ela respondeu:
– Ele aceita, mamãe.
Não a desmenti e fomos até a borda da cama de dona Clementina. A custo apertou-me a mão, eu a beijei depois, e ela me disse:
– Abracem-se, meus filhos. Como estou satisfeita!
Deu um suspiro muito longo e nós nos abraçamos. A Ana chorava, eu também, mas me sentia feliz...
II
Entrei no hospício no dia de Natal. Passei as famosas festas, as tradicionais festas de ano, entre as quatro paredes de um manicômio. Estive no pavilhão pouco tempo, cerca de vinte e quatro horas. O pavilhão de observação é uma espécie de dependência do hospício a que vão ter os doentes enviados pela polícia, isto é, os tidos e havidos por miseráveis e indigentes, antes de serem definitivamente internados.
Em si, a providência é boa, porque entrega a liberdade de um indivíduo, não ao alvedrio de policiais de todos os matizes e títulos, gente sempre pouco disposta a contrariar os poderosos; mas à consciência de um professor vitalício, pois o diretor do pavilhão deve ser o lente de psiquiatria da faculdade, pessoa que deve ser perfeitamente independente, possuir uma cultura superior e um julgamento no caso acima de qualquer injunção subalterna.
Entretanto, tal não se dá, porque as generalizações policiais e o horror dos homens da Relação às responsabilidades se juntam ao horror às responsabilidades dos homens do pavilhão, para anularem o intuito do legislador.
A polícia, não sei como e porquê, adquiriu a mania das generalizações, e as mais infantis. Suspeita de todo o sujeito estrangeiro com nome arrevesado, assim os russos, polacos, romaicos são para ela forçosamente cáftens; todo o cidadão de cor há de ser por força um malandro; e todos os loucos hão de ser por força furiosos e só transportáveis em carros blindados.
Os super-agudos homens policiais deviam perceber bem que há tantas formas de loucura quanto há de temperamentos entre as pessoas mais ou menos sãs, e os furiosos são exceção; há até dementados que, talvez, fossem mais bem transportados num coche fúnebre e dentro de um caixão, que naquela antipática almanjarra de ferro e grades.
Éindescritível o que se sofre ali, assentado naquela espécie de solitária, pouco mais larga que a largura de um homem, cercado de ferro por todos os lados, com uma vigia gradeada, por onde se enxergam as caras curiosas dos transeuntes a procurarem descobrir quem é o doido que vai ali. A carriola, pesadona, arfa que nem uma nau antiga, no calçamento; sobe, desce, tomba pra aqui, tomba para ali; o pobre-diabo lá dentro, tudo liso, não tem onde se agarrar e bate com o corpo em todos os sentidos, de encontro às paredes de ferro; e, se o jogo da carruagem dá-lhe um impulso para frente, arrisca-se a ir de fuças de encontro à porta de praça-forte do carro-forte, a cair no vão que há entre o banco e ela, arriscando a partir as costelas... Um suplício destes, a que não sujeita a polícia os mais repugnantes e desalmados criminosos, entretanto, ela aplica a um desgraçado que teve a infelicidade de ensandecer, às vezes, por minutos...
É uma providência inútil e estúpida que, anteriormente, em parte, me aplicaram; contudo, posso garantir que iria para o hospício muito pacificamente, com qualquer agente, fardado ou não. Era o bastante que me ordenassem segui-lo, em nome do poderoso chefe de polícia, eu obedeceria incontinenti, porquanto estou disposto a obedecer tanto ao de hoje como ao de amanhã, pois não quero, com a minha rebeldia, perturbar a felicidade que eles vêm trazendo à sociedade nacional, extinguindo aos poucos o vício e o crime, que diminuem a olhos vistos.
Por mais passageiro que seja o delírio, um ergástulo ambulante dessa conformidade só pode servir para exacerbá-lo mais e tornar odiosa aos olhos do paciente uma providência que pode ser benéfica. A medicina, ou a sua subdivisão que qualquer outro nome possua, deve dispor de injeções ou lá que for, para evitar esse antipático e violento recurso, que transforma um doente em assassino nato involuído para fera.
Dessa feita, porém, pouparam-me o carro-forte. Fui de. automóvel e desde o Largo da Lapa sabia para onde ia. Não tive o menor gesto de contrariedade, quando percebi isto, embora me aborrecesse passar pelo pavilhão.
Não guardava nenhum ressentimento dessa dependência da assistência a alienados, mas o seu horror à responsabilidade, que o impede de dar altas por si, fazia-me ver que eu, apesar de sentir-me perfeitamente são, tendo de passar por ele, teria forçosamente de ficar segregado mais de um ou dois meses, entre doentes de todos matizes, educação, manias e quizílias. Tristes e dolorosas lembranças...
Feria-me também o meu amor-próprio ir ter ali pela mão da polícia, doía-me; e, mais me doeu, quando, nesse dia de Natal, eu tomei café num pátio, sem ser mesa, e, sem ser em mesa, com prato sobre os joelhos, comi a refeição elementar que me deram, servida numa escudela de estanho e que eu levava à boca com uma colher de penitenciária. Jamais pensei que tal coisa me viesse acontecer um dia; hoje, porém, acho uma tal aventura útil, pois temperou o meu caráter e certifiquei-me capaz de resignação.
Quando, pela primeira vez, me recolheram ao hospício, de fato a minha crise era profunda e exigia o meu afastamento do meio que me era habitual, para varrer do meu espírito as alucinações que o álcool e outros fatores lhe tinham trazido. Durou ela alguns dias seguintes; mas, ao chegar ao pavilhão, já estava quase eu mesmo e não apresentava e não me conturbava a mínima perturbação mental. Em lá chegando, tiraram-me a roupa que vestia, deram-me uma da "casa", como lá se diz, formei em fileira ao lado de outros loucos, numa varanda, deram-me uma caneca de mate e grão e, depois de ter tomado essa refeição vesperal, meteram-me num quarto-forte.
Até ali, apesar de me terem despido à vista de todos – coisa que sempre me desagradou – não tinha razão de queixa; mas aquele quarto-forte provocou-me lágrimas. Eis em que tinham dado os meus altos projetos de menino. Por aí, não sei porquê, me lembrei de minha mulher morta, cuja lembrança o delírio tinha afastado de minha mente; ganhei mais forças e entrei mais confiante naquela prisão inútil...
Aí, tive três companheiros, dos quais dois eram inteiramente insuportáveis, que, a bem dizer, não me deixaram dormir. Um deles era um velho de cerca de sessenta anos, com umas veneráveis barbas de imagem, alto, a que chamavam os outros por São Pedro; o outro era um português esguio, anguloso, mas sólido de músculos e de pés.
Tinha este a mania de sapatear com força e gesticular como se guiasse animais de carro ou carroça. Soltava, de onde em onde, interjeições, assovios; e fazia outros gestos e sinais usados pelos cocheiros, ao mesmo tempo que imitava com os pés o esforço de tração dos burros, quando se apóiam nas patas a que o chão foge, a fim de arrastar a carroça. Não esquecia de chamar as imaginárias alimárias pelos seus nomes de cocheira:
– Eia, Jupira! Acerta, Corisco!
"São Pedro" ficava, enquanto isto, ficava em outro canto, rezando, à meia voz, litanias, ou a orar em voz alta, tudo acompanhado de persignações rituais.
Em certas ocasiões, o palafreneiro e as invisíveis bestas corria para onde estava aquele, cego inteiramente. "São Pedro" afastava-se, mas prorrompendo em injúrias muito pouco próprias a um santo tão venerável.
Quando não encontrava, de pronto, caminho livre para a sua fuga, atirava-se para qualquer lado. Mais de uma vez, quer um quer outro, quase me pisaram em cima da simples enxerga de capim que, com um travesseiro e uma manta, me haviam dado, para dormir.
De uma feita, fugi de vez para a cama de um deles. Parecia-me que lá ficaria mais sossegado. Foi por aí que interveio o quarto companheiro. Era um preto que tinha toda a aparência de são, simpático, com aqueles belos dentes dos negros, límpidos e alvos, como o marfim daqueles elefantes que as florestas das terras dos seus pais criam. A sua aparência de sanidade era ilusória; soube, mais tarde, que ele era um epiléptico declarado. O crioulo, vendo o meu embaraço e a minha falta de hábito daquela hospedaria, gritou enérgico:
– "São Pedro" vai rezar lá pra porta! E você, cavalgadura (falava ao português), fica dando coices à vontade, mas na cama de você... Deixa o rapaz dormir sossegado!
Agradeci ao negro e ele se pôs a conversar comigo. Respondi-lhe com medo e cautela. Hoje, não me lembro de tudo o que ele me perguntou e do que lhe respondi; mas de uma pergunta me recordo:
– Você não foi aprendiz marinheiro?
Esta pergunta me pôs bem ao par da situação onde tinha caído; era ela tão humilde e plebéia, que só se podia supor de mim, na vida, essa iniciação modestíssima de aprendiz marinheiro. Verifiquei tal fato, mas não me veio – confesso – um desgosto mais ou menos forte. Tive um desdém por todas as minhas presunções e filáucias, e até fiquei satisfeito de me sentir assim. Encheu-me de contentamento tirar a prova provada de que, na vida, não era coisa alguma; estava mais livre, e os ventos e as correntes podiam-me levar de pólo a pólo, das costas da África às ilhas da Polinésia...
No dia seguinte, quando o guarda que nos veio abrir a porta, deu-me uma vassoura e um pano com que eu ajudasse a ele e outros a baldear o quarto-forte e a varanda, não fiz nenhum movimento de repulsa. Tomei os dois objetos e cumpri docilmente o mandato. O que me aborreceu, porém, foi a minha falta de forças e hábito de abaixar-me, para realizar tão útil serviço. Havia-me preparado para todas as eventualidades da vida, menos para aquela, com que não contei nunca. Imaginei-me amarrado para ser fuzilado, esforçando-me para não tremer nem chorar; imaginei-me assaltado por facínoras e ter coragem para enfrentá-los; supus-me reduzido a maior miséria e a mendigar; mas por aquele transe eu jamais pensei ter de passar... Realizei, entretanto, o serviço até o fim, e foi com uma fome honesta que comi pão e tomei café.
A faina não tinha cessado, e fui com outros levado a lavar o banheiro. Depois de lavado o banheiro, intimou-nos o guarda, que era bom espanhol (galego) rústico, a tomar banho. Tínhamos que tirar as roupas e ficarmos, portanto, nus, uns em face dos outros. Quis ver se o guarda me dispensava, não pelo banho em si, mas por aquela nudez desavergonhada, que me repugnava, tanto mais que até de outras dependências me parecia que nos viam. Ele, com os melhores modos, não me dispensou, e não tive remédio: pus-me nu também. Lembrei-me um pouco de Dostoiévski, no célebre banho da Casa dos Mortos; mas não havia nada de parecido. Tudo estava limpo e o espetáculo era inocente, de uma traquinada de colegiais que ajustaram tomar banho em comum. As duchas, principalmente as de chicote, deram-me um prazer imenso e, se fora rico, havia de tê-las em casa. Fazem-me saudades do pavilhão...
O guarda, como já disse, era um galego baixo, forte, olhar medido, sagaz e bom. Era um primitivo, um campônio, mas nunca o vi maltratar um doente.
A sua sagacidade campônia tinha emprego ali no adivinhar as manhas, planos de fuga dos clientes, e mais maroscas deles; mas, pouco habituado às coisas urbanas, diante daquela maluqueira toda, uniformemente vestida, não sabia distinguir em nenhum deles variantes de instrução e educação; para ele, devia ser o seu pensar, e isto sem maldade, todos ali eram iguais e deviam saber baldear varandas.
Teria para si, sem desprezar nenhum, que aqueles homens todos que para ali iam, eram pobres, humildes como ele e habituados aos mesteres mais humildes, senão, iriam diretamente para o hospício. Não deviam, por conseqüência da vexar-se por executá-los.
Desde lá, não o levei a mal, por ter-me conduzido àquelas baldeações. Estava ele no seu papel, tanto mais que eu não era melhor do que outros a que o Destino me nivelara. Sofri, com resignação e, como já disse, às vezes mesmo com orgulho, o que poderia parecer a outrem humilhação. Esqueci-me da minha instrução, da minha educação, para não demonstrar, com uma inútil insubordinação, como que uma injúria aos meus companheiros de Desgraça. Não reclamei; não reclamo e não reclamarei; conto unicamente.
Parece-me que ele gostou da minha obediência, pois deu-me cigarros; e, naquele dia ou no seguinte, escolheu-me para ir varrer os canteiros do jardim, isto é, os que circulavam o edifício da enfermaria.
Por essa ocasião, confesso, vieram-me as lágrimas aos olhos. Já não era mais o varrer, porque, mais de uma vez, varri a minha residência; em menino, minha mãe fazia-me varrer a casa e fazer outros serviços menores, para não ficar em prosa; quando estudante, para poupar dinheiro, vasculhava o meu cômodo. Não era o varrer; era o varrer quase em público, sob o olhar de tanta gente a que não ligava a infelicidade comum.
Veio-me, repentinamente, um horror à sociedade e a vida; uma vontade de absoluto aniquilamento, mais do que aquele que a morte traz; um desejo de perecimento total da minha memória na terra; um desespero por ter sonhado e terem me acenado tanta grandeza, e ver agora, de uma hora para outra, sem ter perdido de fato a minha situação, cair tão, tão baixo, que quase me pus a chorar que nem uma criança.
Senti muito a falta de minha mulher e toda a minha culpa, puramente moral e de consciência, subiu-me à mente... Pensei... Não... Não... Era um crime...
Tomei a vassoura de jardim, e foi com toda a decisão que, calçado com uns chinelos encardidos que haviam sido de outros, com umas calças pelos tornozelos, em mangas de camisa, que fui varrer o jardim, mais mal vestido que um pobre gari.
Não dei, porém, duas vassouradas. Um rapaz de bigode alourado, baixo, vestido com aquele roupão de brim apropriado aos trabalhos de enfermaria, médico ou interno, cujo nome até hoje não sei, aproximou-se de mim, chamou-me e perguntou-me quem tinha determinado fazer eu aquele serviço. Disse-lhe e o médico ou interno determinou que encostasse a vassoura e me fosse embora. Se nesse episódio, houve razão de desesperar, houve também a de não perder a esperança nos homens e na sua bondade.
Disse mais atrás que tinha do pavilhão recordações tristes e dolorosas. Uma delas é a desse episódio e a outra é do pátio, do terreiro em que estávamos encurralados todo o dia, até vir a hora de ir para os dormitórios, pois eu estava num bem asseado.
Habituado a andar por toda a parte, a fantasiar passeios extravagantes, quando não me prendem as obrigações de escrever e de ler, ou então a estar na repartição, enervava-me ficar, bem doze horas por dia, em tão limitado espaço, sob a compassiva sombra de umas paineiras e amendoeiras.
Os cigarros que tinha, fumava-os um sobre o outro, guardando as pontas para fabricar novos, com papel comum de jornal. Fumar assim era um meio de afastar o tédio. Jornais, recebia irregularmente dos meus parentes, dos meus amigos e, uma ou outra vez, do chefe dos enfermeiros, que era muito afável.
Conversar com os colegas era quase impossível. Nós não nos entendíamos. Quando a moléstia não os levava para um mutismo sinistro, o delírio não lhes permitia juntar coisa com coisa.
Um dia, um menino, ou antes, um rapaz dos seus dezessete anos, chegou-se perto de mim e me perguntou:
– O senhor está aqui por causa de algum assassinato?
Estranhei a pergunta, que me encheu de espanto.
Respondi:
– Deus me livre! Estou aqui por causa de bebida – mais nada.
O meu interlocutor acudiu com toda a naturalidade:
– Pois eu estou. O meu advogado arranjou...
Não pôde concluir. O guarda chamou-o com aspereza:
– Narciso (ou outro nome), venha para cá. Já disse que não quero você perto da cerca.
Não pude apurar a verdade do que me dizia esse tal Narciso ou que outro nome tenha. Soube que era fujão e, talvez por causa disso, foi logo transferido para o hospício propriamente.
Vivi assim cerca de uma semana, condenado ao silêncio e ao isolamento mais estúpidos que se podem imaginar, junto a uma quase imobilidade de preso na solitária.
Foram dias atrozes por isso, e só por isso, os que padeci no pavilhão; mas, em breve, depois que um médico moreno, de óculos, um moço, pois o era, em toda a linha, inteligente, simpático e bom, ter-me minuciosamente examinado o estado mental e nervoso, a monotonia do pátio foi quebrada com o fazer eu as refeições no comedouro dos enfermeiros. Deixava um pouco o pátio, aquele curral de malucos vulgares.
Pouco me recordo dos doentes que ali encontrei, a não ser do tal menino, cuja palestra comigo interrompeu-a uma reprimenda do guarda.
Não me lembro se tudo que já narrei, foi tudo o que ele me disse ou perguntou; mas, fosse delírio ou fosse verdade, é à imagem dele que ainda hoje associo a lembrança do pavilhão e a do seu pátio.
Doutra forma não era possível a contasse, à vista de um conhecimento que se trava por intermédio de tão fantástica pergunta:
– O senhor está aqui por causa de algum assassinato?
Criminoso que fosse, ele mesmo, a sua pessoa não me meteu medo, como, em geral, não me assustam os criminosos; mas a candura, a inocência e a naturalidade, em que não senti cinismo, com que ele respondeu – "pois eu estou" – causaram-me não sei que angústia, não sei que tristeza, não sei que mal-estar.
Aquele menino, quase imberbe, falava-me de seu crime, como se fosse a coisa mais trivial desta vida, um simples incidente, uma pândega ou um contratempo sem importância.
Todas as minhas idéias anteriores a tal respeito estavam completamente abaladas; e me veio a pensar, coisa que sempre fiz, no fundo da nossa natureza, na clássica indagação da sua substância ativa, na alma, na parte que ele tomava nos nossos atos e na sua origem.
Até bem pouco, quase nada me preocupava com tais questões; tinha-as por insolúveis, e tomar tempo com o querer resolvê-las era trabalho perdido. Entretanto, os transtornos e as dores da minha vida doméstica tinham-me levado às vezes a pensar nelas. Procurei estabelecer, para meu uso particular, uma teoria que, forçosamente, me saiu por demais simplista, a fim de explicar a nossa existência e a do mundo, assim como as relações entre os dois. Não tinha chegado ao mistério, ao espesso mistério impenetrável, em nós e fora de nós. Isto que escrevo, agora, aqui, não será propriamente muito meu; mas o gérmen que havia em mim não fez mais que se desenvolver mais tarde, com o adubo das idéias dos outros.
Repugnava-me personalizar com este ou aquele nome o desconhecido, o informe, o vago. Dar um apelido seria limitar o ilimitado, definir o indefinido, distinguir o indistinto, fazer perecível o imperecível. Sendo tudo, em face do nada, e nada, em face de tudo, esse ser não devia ter corpo, nem forma, nem extensão, nem movimento, nem outra qualidade qualquer com que nós conhecemos as coisas existentes. O nosso ideal, a nossa felicidade seria ser como ele, e, para alcançá-lo, devíamos procurar a nossa desincorporação, pela imobilidade e pela contemplação. O sábio é não agir. Quando li esta conclusão nos meus manuais baratos de filosofia, assustei-me. Aceitava a concepção, mas a conclusão me repugnava. Se verdade era que, em presença desse tumulto da vida, desse entrechocar de ambições, as mais vis e imundas, desse batalhar sem termo e sem causa, o homem beneficiado pela sabedoria tinha o dever superior de afastar-se disso tudo e tudo isso contemplar com piedade; era verdade também que a ação, julguei assim, seria favorável à nossa reincorporação no indistinto, no imperecível, desde que fosse orientada para o Bem. Como conhecer o Bem? O meu espírito não encontrava, para sinal de seu conhecimento, senão na revelação íntima. Os problemas últimos da nossa natureza moral, nas minhas cogitações, ficaram aí, e dei-me por satisfeito; mas – chega-me esse pequeno criminoso e me põe tudo de pernas para o ar! Por que, pensei eu, se cada consciência fala ao indivíduo de uma maneira, sobre o bem e sobre o mal, como na desse rapazola, que não podia ter sofrido outras influências duradouras que não as dele mesmo; se os homens não se encontram a respeito numa opinião única, como distingui-las – Deus do Céu?
O curto encontro com esse rapazola criminoso, ali, naquele pátio, mergulhado entre malucos a delirar, a fazer esgares, uns; outros, semimortos, aniquilados, anulados, encheram-me de um grande pavor pela vida e de um sentimento profundo da nossa incapacidade para compreender a vida e o universo.
Lembrei-me, então, dos outros tempos em que supus o universo guiado por leis certas e determinadas, em que nenhuma vontade, humana ou não, a elas estranhas, poderia intervir, leis que a ciência humana iria aos poucos desvendando... Não sorri inteiramente; mas achei tal coisa ingênua e que todo o saber humano só seria útil para as suas necessidades elementares de vida e nunca conseguiria explicar a sua origem e o seu destino. Tudo mistério e sempre mistério.
Em tal estado de espírito, penetrado de um profundo niilismo intelectual, foi que penetrei no hospício, pela primeira vez; e o grosso espetáculo doloroso da loucura mais arraigou no espírito essa concepção de um mundo brumoso, quase mergulhado nas trevas, sendo unicamente perceptível o sofrimento, a dor, a miséria, e a tristeza a envolver tudo, tristeza que nada pode espancar ou reduzir. Entretanto, pareceu-me que ver a vida assim era vê-la bela, pois acreditei que só a tristeza, só o sofrimento, só a dor faziam com que nós nos comunicássemos com o Logos, com a Origem das Coisas e de lá trouxéssemos alguma coisa transcendente e divina. Shelley, se bem me recordo, já dizia: "Os nossos mais belos cantos são aqueles que falam de pensamentos tristes"...
Toda a minha vida particular, toda a minha existência doméstica, quer de filho, quer de chefe, tendia para conceber e praticar essa concepção do Universo, só sentido e representado em nós pelos seus aspectos sombrios.
Casado, como já contei, com tantas reservas íntimas, vivi cinco anos com minha mulher, até à sua morte, na mais perfeita paz de decência doméstica. Logo após passar o meu primeiro ano de casamento, aí pelo nascimento do meu primeiro e único filho, sua mãe, a minha sogra, melhorara muito das conseqüências do ataque, ganhara quase todos os movimentos, mas de juízo não me saiu muito sã e o foi perdendo aos poucos, até chegar à mania declarada.
Foi depois da morte de Efigênia que o meu pensamento fez-me viver uma vida desnorteada, que me levou duas vezes ao manicômio.
O meu primeiro ano de casamento correu mansamente, da forma mansa e vulgar de todos os enlaces da espécie do meu. Não tinha por minha mulher grandes extremos de sentimento; dominava em mim, porém, a imagem das minhas responsabilidades de marido, e as cumpri como um dever sagrado. Estimava-a, prezava-a, mais como um companheiro, como um amigo, do que mesmo objeto de uma profunda solicitação da minha total natureza. Reprimia mesmo o mínimo movimento nesse sentido, porque sempre tive vexame, pudor de amar.
Não lhe dizia as coisas mais secretas a mim mesmo. Dos meus planos de vida, dos meus projetos intelectuais, não lhe confidenciava palavra, nem dos meus desânimos, nem dos meus desalentos. Mal lhe noticiava o aparecimento de um trabalho nesta ou naquela pequena revista ou jornal obscuro. Não só motivava isso um certo desdém pela sua inteligência e instrução, como também por temer que ela me desanimasse e censurasse os meus propósitos literários, porque ela sempre teve sobre mim um grande ascendente, senão império moral.
Os nossos sentimentos nunca são lógicos, por isso mesmo não são simples. Eu respeitava muito minha mulher, via-a, às vezes, interessada pelas minhas tentativas; mas não me queria abrir com ela, dizer tudo, temendo que a sua medíocre condição de pequena e modesta burguesa não se assustasse com as minhas ambições intelectuais. Encerrava-me em mim mesmo e sofria. Sem inquietar-me que toda a gente percebesse a minha relação íntima, para a qual não sabiam, até, onde procurar a fonte, fazia, contudo, todos os esforços, para que Efigênia não a percebesse em mim e nos meus escritos.
Veio, porém, um acontecimento, que me obrigou a desvendar-me um tanto. Graças ao meu amigo Chagas, pouco depois do nascimento de meu filho, fiz parte, como colaborador, da redação de uma revista do gênero denominado humorístico, que se acabava de fundar e era dirigida por quem sabia explorar a indústria da publicidade. Tinha eu aí um razoável ordenado mensal, que sempre empreguei honestamente, e a Gatimanhas, tal era o nome da publicação, fez sucesso. Não pude esconder isso à minha mulher e ela pareceu alegrar-se; mas, com o meu espírito sistemático, não quis ver, na sua alegria, senão o contentamento pelo acréscimo da renda do casal.
De há muito tinha abandonado a escola superior que freqüentava; e, embriagado com o sucesso de estima que ia fazendo, na revistinha, esquecia-me dos meus estudos, das minhas leituras, sem, contudo, procurar reputação no gênero que ela representava. Saía da repartição, ia ao escritório da publicação, entregava originais, conversava um pouco, jantava nos freges literários e ficava até à meia-noite nas cervejarias. Quase sempre encontrava minha mulher acordada, costurando, fazendo crochet ou mesmo lendo.
Não chegava muito são, mas minha embriaguez era discreta e pouco evidente. Nunca ela me disse nada; nunca lhe fiz a mínima má-criação. Passava assim durante a semana; e só no domingo ficava em casa ou saía com ela a passeio ou a visitas. Evitava muito estas, pois me aborreciam; eu estava naquele período inicial de literato que só quer ouvir falar de literatura ou coisas literárias. As conversas familiares me entediavam, e não sabia sustentá-las. Enquanto minha sogra não ficou declaradamente doida, era ela as mais das vezes quem acompanhava minha mulher; mas, à proporção que ensandecia, deixou de faze-lo, e eu tive de acompanhá-la.
A minha entrada na Gatimanhas e o hábito de freqüentar chopes, adquiri depois de ter meu filho, Boaventura, um ano. Antes, eu vinha cedo para a casa. Minha sogra, apesar da decadência de seu estado mental, e a preta Ana gostavam muito do pequenote, que havia nascido robusto, forte, mas com um mau feitio de cabeça, que me desgostava.
Não tinha eu, porém, conquanto pai, tanto gasto de ternura com ele; e se o queria animar e acalentar, fazia-o com a mais total falta de jeito de que uma criatura é capaz.
– Arre, Vicente! dizia minha mulher. Você não sabe pegar numa criança.
Não lhe dizia nada ou senão passava-lhe a criança, observando:
– Pega lá, você, que sabe! Isto é mesmo serviço de mulher.
Mais de uma vez, ao lhe dizer isto, minha mulher dizia, meio séria, meio brincando:
– Dá cá, meu caboclinho! Dá cá! Diz pra ele, meu filhinho, diz: deixa estar! Quando você se casar, segunda vez, há de saber também. Diz, meu filhinho.
E se punha a acalentar a criança, cantarolando qualquer coisa adequada. Em outras vezes, o diálogo continuava, desta maneira, após a minha pergunta, cheia de surpresa:
– Como é isto, Efigênia, segunda vez?
– Sim, quando eu morrer; porque eu só me casei com você, para ensinar a você estas coisas.
– Você tem cada uma... Ora, bolas!
– Qual! Eu sei... Você ganha nome, é capaz de formar-se...
– Disse a você, antes de nos casarmos, que não me formava mais, não foi? Quanto a mulher, você sabe muito bem o que vale...
– Enfeita, pelo menos.
– Se é assim, você já está recebendo os enfeites.
– A mim! Você nem ao menos me diz o que escreve...
– Foi. Mas pensei que você se entregasse a estudos altos. Você se enveredou, porém, por essas coisinhas de revistas sem importância...
Por aí, eu olhei minha mulher, espantado com a sua reflexão, e ela, que estava sentada do outro lado da mesa em que eu escrevia, olhava-me muito séria, sem dureza, debruçada, com a mão na cabeça, apoiada no móvel, com um ar misterioso que não pude decifrar.
Tentei dizer alguma coisa:
– Não dou importância a essas tolices, tanto que não as assino...
– É verdade, mas não vejo você pegar mais nos livros. Ainda ontem, vi-os tão cheios de pó, que tratei de limpá-los. Você sabe onde estava o Bouglé?
– Qual?
– La Démocratie devant...
Cada vez me espantava mais minha mulher. Com aquele interesse pelos meus livros, sabendo-lhes os nomes, os títulos... Olhei-a mais e demoradamente para ela, estava ainda na mesma postura de sondagem, de exame, de interrogação misteriosa. Não me contive:
– Efigênia, é você mesmo quem me fala?
– Sou, meu filho. Sou eu, Efigênia, tua mulher.
No momento, eu vi, na censura disfarçada de minha mulher, a manifestação de um pequeno desgosto doméstico, por chegar eu, em casa, geralmente tarde; hoje, porém, a fisionomia e a expressão de minha mulher naquela ocasião me parece totalmente outra, e, no correr da narração, eu tenho bem dito que a senti misteriosa e estranha.
Minha mulher nunca teve para mim uma palavra azeda, uma palavra má; e, conquanto às vezes birrento, mudo, nunca a tratei senão com delicadeza e cordura. Se tenho algum arrependimento das minhas relações com ela, não é por nenhum dos meus atos externos; era pela minha reserva de alma e de pensamento, que sempre mantive em face dela; é da minha incompreensão dela, enquanto viveu, e da grande esperança e do grande desejo que eu realizasse o meu destino.
Fosse pela sua meiga e disfarçada censura, fosse porque fosse, o certo é que deixei um pouco as rodas bulhentas da minha literatice incipiente, fugi aos cafés e pus-me a meditar em um livro. A obra que meditava, assim que travei conhecimento mais íntimo com a cozinha literária, percebi logo que me seria difícil publicá-la, sem que, antes, eu adquirisse um certo nome, uma certa posição que me garantisse o bem-querer dos livreiros. Demais, eu precisava anos para realizá-la, tal qual eu a meditava. Pobre, não me seria possível custear a impressão, e mesmo era preciso que eu fosse criando um núcleo de leitores. Resolvi, portanto, publicar alguma coisa que atraísse atenção sobre mim, que me abrisse as portas, como se diz, que me fizesse conhecido, mas queria pôr nessa obra alguma coisa das minhas meditações, das minhas cogitações, atacar em síntese os inimigos das minhas idéias e ridicularizar as suas superstições e idéias feitas. Pensei em diversas formas, procurei modelos, mas me veio, ao fim dessas cogitações todas, a convicção de que o romance ou a novela seria o gênero literário mais próprio, mais acessível a exprimir o que eu pensava e atrair leitores, amigos e inimigos.
Mas o romance, como a canônica literária do Rio ou do Brasil tinha estabelecido, não me parecia próprio. Seria obra muito fria, teria de tratar de um caso amoroso, ou haver nele alguma coisa de parecido com isso. Eu tinha um grande pudor de tratar de amor. Parecia-me ridículo ter esse sentimento e ainda mais ridículo analisá-lo ou tratá-lo em livro. Todo o amor, parecia isto a mim, me humilhava, e não queria o fato de descrever um qualquer encontrasse em mim prova de fraqueza e rebaixamento de mim mesmo.
Evitando o amor, voltei as minhas vistas para os grandes livros de aventuras; e, por eles, vi bem que os romances que as narram são talvez os que mais resistem ao tempo. Não foi, porém, por isso, nem mesmo pela sua aparente facilidade; foi tão-somente para evitar o escolho do Amor, que comecei a escrever um.
Tínhamos entrado no terceiro ano do casamento; meu filho já tinha dois, já tinha mais aparência de gente e me atraía com mais naturalidade de sentimento. Minha sogra não o deixava, o pequeno; era o seu enlevo, era a sua única preocupação. Tinha questões com a filha, por causa dele; atribuía-lhe a culpa das suas manhas naturais de criança, ensinava-o a andar. A velha Ana, que o era um pouco mais do que minha sogra, também tinha um grande pendor pelo pequeno, embora não demonstrasse grande simpatia por mim.
Não era bem preta e tinha sido cria do pai de minha sogra, senão filha ou parenta próxima dele. As duas velhas se tratavam pelos apelidos e por tu e você. Era você, Aninhas, pra ali; era tu, Clementina, pra lá.
Entre as duas, havia muitos vestígios daqueles singulares costumes existentes entre senhores e escravos, nas pequenas propriedades rurais, antes das agitações abolicionistas. Eram todos parentes e íntimos, mucamas e sinhazinhas. Fingia sempre não perceber a antipatia de Aninhas por mim e sempre, afora o que minha mulher lhe dava, eu lhe oferecia dinheiro, que era aceito com pressa. Tinha um fundo religioso, não era bem este ou aquele credo que a tomava: eram todos. Todo o domingo ia à missa, confessava-se e comungava com freqüência, nos dias próprios levava a benzer palmas, ramos de alecrim e arruda, mas isso não impedia que também freqüentasse sessões espíritas e procurasse feiticeiros quando julgava necessário.
Se conversava com ela, não cessava de dizer-me a todo o propósito:
– No tempo de seu Zuzu, as coisas eram outras... Havia sempre de "um tudo" a fartar em casa... Não era, Clementina?
Esse Zuzu era o falecido marido de minha sogra, que tinha umas propriedades agrícolas no Estado do Rio, mas que, depois da República, liquidara tudo e se fizera tesoureiro ou pagador de uma repartição do Ministério da Viação.
Outras vezes, quando eu estava presente, a velha Aninhas lembrava:
– Clementina, você se lembra daquele São João em que seu pai matou um boi, para receber a visita do deputado?
Minha sogra não gostava dessas rememorações; mas nada objetava, limitando-se a dizer: "Sim, eu me lembro". Minha mulher, porém, era mais franca:
– Ora, Aninhas! Águas passadas não movem moinho...
– Não movem! exclamava a velha cabrocha, tirando o cachimbo da boca. É que naqueles tempos havia "homens...."
E olhava para mim significativamente. Compreendia que ela queria pôr nos meus olhos a grandeza passada dos parentes de minha mulher, em face da mediania atual, que, se não era eu culpado, demonstrava, por continuar ela, incapaz e indigno de me ter casado com Iaiá Figena. Disse isto a minha mulher e ela me observou:
– É assim, Aninhas: pensa sempre em muito; mas se contenta com pouco e nada exige quando não se tem. Essas lembranças do passado são para ela como os nossos sonhos de futuro.
Tive ocasião de verificar isto nos transes de vida por que vim a passar. Escrevia meu livro, mas não com seguimento e vontade. Interrompia, ora por uma coisa, ora por outra. Continuava a escrever nas minhas revistecas, para ganhar dinheiro e mesmo por gosto; mas via bem que elas não me dariam o que sonhava e estavam abaixo dos meus propósitos e da minha instrução. Procurava campo mais vasto...
Uma tarde, era domingo, estava eu sentado com minha mulher no jardim, quando ela me perguntou:
– Você leu a opinião de F. sobre o livro do teu amigo Oliveira?
– Li.
– Achei justa.
– Você o leu?
– Li. Ele não ofereceu a você? Peguei-o em cima da mesa e li-o... Uma coisa, Vicente?
– Que é?
– Você abandonou a sua obra?
Não tinha dito nunca a minha mulher que fazia uma tentativa literária, mas não escondia nada, nem fechava móvel algum. Espantei-me e indaguei:
– Como é que você sabe disso?
– Muito simplesmente: via você escrever tantas folhas de papel e descobri que você fazia uma obra.
Fiquei envergonhado e arrependido com aquela falta de franqueza com minha mulher e tentei uma desculpa:
– Não disse isso a você porque podia falhar e...
– Mas que mal havia nisso para a sua mulher, Vicente? Você tem vexames, temores, com sua mulher? O que é preciso é acabá-lo... Há quase um mês que você não escreve nele...
– Como é que você sabe disso?
– Antes de São João, você estava na página cento e catorze; ontem, eu vi que você continuava na mesma página, e nós estamos em fins de julho!
Todo esse interesse de minha mulher pelos meus trabalhos, pela minha vida mental, passava-me desapercebido. Eu os não unia, eu os não coordenava, para completar a figura dela, a sua inteligência, o seu amor por mim. Duas coisas levavam-me a isto: a certeza de que não é dado as mulheres brasileiras de seu nascimento se preocuparem com essas coisas, e o meu vexame de fazer confidências a quem quer que fosse do que planejava em letras.
A intervenção dela, porém, não foi em vão. Terminei a obra e, apesar de antemão saber que não arranjaria editor, procurei um, dois, três. Todos eles me diziam: "O senhor já mostrou a F.?" "Não", dizia eu. "Deve mostrar", objetavam; e restituíam-me o manuscrito intacto. Não conhecia nem fulano, nem beltrano, e desconfiava que eles não gostassem da minha literatura, das minhas poucas opiniões existentes no livro, na forma da narração e, sobretudo, a timidez junto ao orgulho impediam-me de pedir-lhes opinião.
Correram tempos e minha mulher, vendo-me uma vez ler o meu manuscrito, ao trazer-me café que lhe pedi, perguntou-me:
– Você por que não publica isto?
– Não há quem o queira imprimir.
– Publique você mesmo. Custa caro?
– Muito.
Ela convenceu-me que devia pedir emprestado o dinheiro necessário sobre os meus vencimentos. Assim fiz, e o livro ia em meio da composição, quando ela adoeceu gravemente. A sua moléstia foi dolorosa e duradoura. Mais de quatro meses, ela esteve acamada, morrendo aos bocados. No fim, só tinha de humano o olhar, aquele seu olhar vivo, penetrante, com expressões indefiníveis. Penou muito e muito me fez penar. No fim, parecia estranha a tudo, até ao filho, até à mãe, e estava já quase assim, quando me fez aquela recomendação:
– Você deve desenvolver aquela história da rapariga num livro...
Já estava morta, quando meu livro apareceu. Vendi toda a edição quase pelo preço de impressão, para pagar dívidas, e ma comprou um daqueles livreiros que me editara. Não pude desagravar os meus ordenados; a minha colaboração rendia pouco. Minha sogra, depois da morte da filha, ficou aluada. Não se movia do lugar, não queria sair, não queria ver ninguém. Os atos e requerimentos para receber a sua pensão de montepio, era uma dificuldade para obter dela a assinatura. Do pequeno, cuidava, mas a seu jeito; enfurecia-se com qualquer repreensão a ele e a todo o instante relembrava-lhe a mãe:
– É isto, a Efigênia não está aí...
O meu consolo era o meu livro. A crítica assinada, a responsável, honrou-o muito, particulares insuspeitos gabaram-mo à queima-roupa. Ele era cochichado, e eu pressentia no ar a emoção e a surpresa que tinha causado.
Devia alegrar-me, mas a alegria que me podia causar era abafada pelas minhas dificuldades de dinheiro e pela doença de minha sogra.
Ela sempre me estimara, eu via bem; ela sempre me quisera, eu percebia; ela mesma fora que nos casara; mas a loucura sua, que ia a passos largos, como sempre, virava-se para os parentes próximos e para as pessoas amigas.
Sem aproveitar o pequeno e restrito sucesso que havia obtido, eu não sabia como haver dinheiro. Não queria tentar o jornal. Muitas coisas me faziam pensar. Repugnava-me aceitar um lugar subalterno, sentia-me capaz de outra coisa; mas, ao mesmo tempo, não me queria hipotecar por gratidão ou dinheiro a pessoas e influências, que fariam sepultar em mim as minhas idéias e abafar a paixão com que elas deviam ser expostas.
Voltou-me o hábito de beber, e, desta vez, sem dinheiro, mal vestido, sentindo a catástrofe próxima da minha vida, fui levado às bebidas fortes e, aparentemente, baratas, as que embriagam mais depressa. Desci do whiskhy, à genebra, ao gin e, daí, até à cachaça.
Tinha recebido um sobrinho para se empregar no Rio, no decorrer desses cinco anos que mediaram entre a morte de minha mulher e a minha primeira entrada no hospício. Era um rapaz simples, bom, de pouca instrução e inteligência. Filho de uma irmã que ficara e se casara no interior, eu não o conhecia; mas foi bom para mim. Ele e a preta Aninhas.
Esta perdera a antipatia por mim, adivinhava-me as dificuldades, não todas, e, das origens, ela só supunha consolar-me da morte de Efigênia:
– Sossega, "seu" Mascarenhas! dizia-me ela em certas manhãs que eu amanhecia terrível. Que se há de fazer? Deus assim quis.
Meu filho crescia sob os cuidados desta pobre rapariga. Ele tinha pouco mais de dois anos, quando a mãe morreu. Pouco depois dos cinco, veio a ter em certas noites umas convulsões, um choro, um tremer que me assustou. Levei-o a um médico, meu amigo.
– Mascarenhas, disse-me ele, toma cuidado com este teu filho... Evita contrariá-lo...
Deu-me uma poção calmante e não me quis dizer mais nada. Foi crescendo e, aos sete anos, tentei ensinar-lhe a ler. Começava "a-e-i-o-u"; quando passei a juntar as letras, ele ia até certo ponto e desandava a chorar. Minha sogra intervinha, às vezes com bons modos, às vezes malcriada:
– Deixem o pequeno! Malvados!
Tentava convencê-la, mas era em vão. Tratei de experimentar o colégio; a professora me disse que era dócil, o meu filho, mas não sabia o que tinha ele. A verdade é que não havia jeito de poder-lhe prender a atenção na cartilha.
Tinha trinta e poucos anos, um filho fatalmente analfabeto, uma sogra louca, eu mesmo com uma fama de bêbedo, tolerado na repartição que me aborrecia, pobre, eu vi a vida fechada. Moço, eu não podia apelar para minha mocidade; ilustrado, não podia fazer valer a minha ilustração; educado, era tomado por um vagabundo por todo o mundo e sofria as maiores humilhações. A vida não me tinha mais sabor e parecia que me abandonava a esperança.
Depois de beber consecutivamente durante unia semana, certa noite, amanheci de tal forma gritando e o dia seguinte passei de tal forma cheio de terrores, que o meu sobrinho André, que já era empregado e muito me auxiliava, não teve outro remédio senão pedir à polícia que me levasse para o hospício.
Foi esta a primeira vez.
III
O espetáculo da loucura, não só no indivíduo isolado, mas, e sobretudo, numa população de manicômio, é dos mais dolorosos e tristes espetáculos que se pode oferecer a quem ligeiramente meditar sobre ele. Dizia Catão que os sábios tiram mais ensinamentos dos loucos que estes deles. Deve ser assim, conforme quem os interpela e o tempo que o faz, mas o certo é que, à primeira vista, o ensinamento não é, como queria o orgulho romano, para melhoramento e progresso dos ajuizados; ao contrário, a primeira impressão é de abjeção para o espírito, pelo enigma que nele se põe, diante de uma misteriosa interrogação sem resposta. Donde vem isto? Que inimigo da nossa espécie é esse que se compraz em nos rebaixar?
No pavilhão, devido ao número exíguo de doentes, não se sente bem essa dor especial, esse tomado de amargura pelo nosso destino, o nosso pensamento não se angustia tanto em querer resolver tão sombrio problema da nossa existência que a loucura provoca; mas na Seção Pinel é de abater, é de esmagar, a contemplação, o contato, o convívio com quase duas centenas de loucos.
Da primeira vez, não saí do pavilhão para essa seção, que é a dos gratuitos, a dos indigentes, mas, na qual, como uma consideração que a bondade da administração pode ter, sem ferir os regulamentos, há muitos que não o eram. De forma que, quando saí do pavilhão, para ela, na segunda vez, foi-me um espetáculo novo, inédito, denso, a que fui obrigado a assistir nela.
Logo após o café, fui chamado à presença de um jovem médico, muito simpático, pouco certo dos seus poderes para curar-me. Fez-me umas perguntas, e senti mesmo que seu desejo era mandar-me embora. Disse-me mais ou menos isso, ou melhor, as suas palavras foram estas, depois de dizer o que eu tinha tido:
– Não há dúvida... Mas o senhor ou você – não me recordo – veio pela polícia, tem que se demorar um pouco.
Concordei e voltei para o pátio. Vestia umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa que me ficava pela metade do antebraço. Um tal vestuário me aborrecia deveras e não porque eu me julgava mais ínfimo ali com ele do que se outro tivesse. Pouco tempo depois, fui de novo para a varanda, onde me puseram num banco, ao lado de outros companheiros. Estava em uma extremidade, e o doente a meu lado era um preto moço, tipo completo do espécimen mais humilde da nossa sociedade.
Era ocasião da visita do médico-em-chefe, que me conhecia de vista e eu a ele; mas não fez alusão a isso, e também não me dei por achado. Sempre me disseram um excelente rapaz, mas o supunha muito cheio de certeza, por isso embirrava com ele.
Acabada a visita do médico-em-chefe, voltei para o terreiro, à espera da minha alta. Estava certo dela; e, quando o enfermeiro-mor me chamou do alto da varanda que dava para onde eu estava sentado, sorri de alegria.
Esse enfermeiro não me fez mal algum, mas impliquei com ele. Era alto, bem apessoado, tinha uma fisionomia bragantina, papada, bochechas, olhos pequenos... O guarda-civil que me esperava no portão do hospício, chamou-o de doutor e ele se deixou tratar assim. Pareceu-me um pouco pedante; se não me maltratou, tratou-me com desdém e sobranceria... Muitas vezes, rio-me interiormente, quando tal acontece, mas com ele irritei-me.
Veio-me chamar e levantei-me alvissareiro:
– Venha cá!
Olhando para ele, perguntei:
– Eu?
– Sim, você.
Levou-me o bragantino por corredores e pátios até ao hospício propriamente. Aí é para não me ir embora, mas ficar.
– Não vou-me embora?
– Não; você fica.
Ainda esperei que fosse cair na seção dos pensionistas; mas assim não foi. Entrei para a Pinel, para a seção dos pobres, dos sem-ninguém, para aquela em que a imagem do que a Desgraça pode sobre a vida dos homens é mais formidável e mais cortante.
O mobiliário, o vestuário das camas, as camas – tudo é de uma pobreza sem-par. O acúmulo dos doentes, o sombrio da dependência que fica no andar térreo e o pátio interno é quase ocupado pelo pavilhão das latrinas de ambos os andares – tirando-lhe a luz, tudo isso lhe dá má atmosfera de hospital, de emanações de desinfetantes, uma morrinha terrível.
Os loucos são de proveniências as mais diversas; originam-se, em geral, das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São pobres imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e outros mais exóticos; são negros roceiros, que levam a sua humildade, teimando em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira ensebada e uma manta sórdida; são copeiros, são cocheiros, cozinheiros, operários, trabalhadores braçais e proletários mais finos: tipógrafos, marceneiros, etc.
No meio desse baralhamento de homens de tão diferentes raças e educação, fazem-se às vezes descobertas. Um dia, um maluco diz a outro:
– Você sabe? Aquele novo é padre.
– Qual?
– Aquele alemão, que veio há dias do pavilhão.
A notícia corre de boca em boca e vai até ao enfermeiro-chefe. Este, então, verifica e procura melhorar o tratamento do pobre náufrago da vida.
Quando lá estive, havia um religioso alemão ou teuto-brasileiro, moço, forte, silencioso, com aquele doce olhar que há em certos alemães, em que a gente vê o mar raso e a areia faiscando no fundo. Parecia um frade concentrado e, sem rezar, parecia rezar, andando de um lado para outro do corredor. Pelo que se entendia do seu português, ele o falava bem, com certo acento, mas correto. Não se o entendia, porque não pronunciava as palavras: balbuciava, ciciava...
Vi também o D. L., meu antigo conhecido, poeta das pequenas coisas, paródias, sonetos satíricos. Era companheiro do T., que foi meu colega de colégio, e agora se fez esquecer; mas foi um grande estróina. D. L. montou um colégio num arrabalde modesto e, segundo notícias, ele prosperou. Deixou de andar em rodas dos literatos, parece que estudou, pois eu o conheci com pouca instrução, e os seus discípulos gabavam-lhe o saber e o método. Veio, porém, a equiparação ao ginásio, ele não tinha dinheiro, para equiparar o seu colégio ao oficial, foi perdendo alunos, endividou-se e enlouqueceu.
Foi o primeiro a me falar e, pelo jeito com que o fez, parecia que me esperava ali desde muito tempo...
Fui de novo à presença de um médico; era também moço, mas não tão cético como o primeiro que me viu no pavilhão, nem tão crente como o chefe deste. Interrogou-me pacientemente, sobre o meu delírio, sobre os meus hábitos e antecedentes. Disse-lhe toda a verdade. Não me desgostou este médico, senão quando ele me perguntou assim, com um pouco de menosprezo:
– O senhor colabora nos jornais?
– Sim, senhor; e já até publiquei um livro.
O doutor, por aí, sorriu desdenhosamente, mas foi um instante. Saí do exame e fiquei pelos corredores. Eu tinha passado bem a noite passada; mas tudo aquilo me parecia mais extravagante. Como é que eu, em vinte e quatro horas, deixava de ser um funcionário do Estado, com ficha na sociedade e lugar no orçamento, para ser um mendigo sem eira nem beira, atirado para ali que nem um desclassificado?
Por que o Estado queria-me gratuito, comendo à sua custa, quando era mais simples tomar-me o ordenado e dar-me pelo menos um paletó?...
Recordei-me um pouco da casa do meu sobrinho, da sua infantil mania de supor que o hospício me curava e de supor que era o álcool e as companhias que me punham a delirar. O meu sofrimento era mais profundo, mais íntimo, mais meu. O que havia no fundo dele, eu não podia dizer, a sua essência era meu segredo; tudo mais: álcool, dificuldades materiais, a loucura de minha sogra. a incapacidade de meu filho, eram conseqüências dele e do desnorteamento em que eu estava na minha vida. Depois de quase dez, ou antes, logo nos primeiros anos da morte de minha mulher, é que eu senti bem a falta dela e que me convenci que ela viera ao meu encontro, para realizar o meu destino e o meu sonho. Perdida ela, perdida nas condições em que foi, parecia-me que eu tinha praticado um crime, uma falta grave, sem remédio e sem resgate. Embora não a tivesse nunca maltratado de nenhuma sorte, eu me sentia culpado por não a ter compreendido em tempo, por não a ter adivinhado.
Vinha-me um desespero íntimo, um aborrecimento de mim mesmo, um sinal da evidência da minha incapacidade para qualquer obra maior, pois – raciocinava eu – quem teve um ente humano a seu lado, com ele viveu na mais total intimidade em que dois entes humanos podem viver, não o compreendeu, não pode absolutamente compreender mais coisa alguma. E eu atirava meus livros para o lado, e eu me punha a beber, e eu não tratava do meu, e eu me queria anular, ficar um desclassificado, uma bola de lama aos pontapés dos polícias...
Não tinha lido o trecho de Plutarco a que aludi, pois o li no próprio hospício; mas, agora, relembrando as minhas impressões, sinto bem que ele tem bastante razão. Eu estava ajuizado e tinha muito que aprender com loucos.
Da primeira vez, não me demorei observando loucos. Revoltei-me, censurei meu sobrinho; mas desta vez, voltava mais capaz de fazê-lo. Eu me tinha esquecido de mim mesmo, tinha adquirido um grande desprezo pela opinião pública, que vê de soslaio, que vê como criminoso um sujeito que passa pelo hospício, eu não tinha mais ambições, nem esperanças de riqueza ou posição: o meu pensamento era para a humanidade toda, para a miséria, para o sofrimento, para os que sofrem, para os que todos amaldiçoam. Eu sofria honestamente por um sofrimento que ninguém podia adivinhar; eu tinha sido humilhado, e estava, a bem dizer, ainda sendo, eu andei sujo e imundo, mas eu sentia que interiormente eu resplandecia de bondade, de sonhos de atingir a verdade, do amor pelos outros, de arrependimento dos meus erros e um desejo imenso de contribuir para que os outros fossem mais felizes do que eu, e procurava e sondava os mistérios da nossa natureza moral, uma vontade de descobrir nos nossos defeitos o seu núcleo primitivo de amor e de bondade.
O hospício me retemperava. Lembrava-me do plano de minha obra, dos grandes trabalhos que ela demandava, dos estudos que pedia; e, de mim para mim, eu me prometia levá-la a cabo, empregando todos os argumentos, tirando-os de toda a parte, não só os lógicos, como os sentimentais; havia de escrevê-la, empregando todos os recursos da dialética e da arte de escrever.
Voltava-me para trás da minha vida e lá via minha sogra louca, às vezes, delirando; às vezes, calada, a olhar tudo com um olhar intraduzível e sobretudo meu filho, seu neto, que passava dos dez anos e não sabia absolutamente nada. Não havia ameaça, não havia afago, não havia promessa que o fizesse dar um pouco de atenção à cartilha. Eu não sabia o que fazer. Deixava o tempo correr; e, quando me vinha a idéia que havia de ter um filho completamente analfabeto, eu amaldiçoava tudo e me arrependia de tê-lo gerado. No hospício, porém, estas duas lembranças dolorosas não me abatiam tanto quanto em casa ou solto em qualquer parte. A conclusão a que chegava era ser preciso transmontá-las, para executar o meu propósito de moço e o meu sonho de menino...
– "Seu" Vicente, venha ver sua cama.
Era o inspetor. Era bom homem, conhecera meu pai e se lembrava dele com amizade. Eu não me recordava dele; havia-o visto menino. Ele, entretanto, fez tudo para suavizar a minha sorte, sem pedido nem rogo meu. Era um mulato escuro, forte, mesmo muito forte, rosto redondo grande, olhos negros brilhantes, com uma pequena jaça de desconfiança.
Deu-me uma cama num dormitório mais razoável, com melhor companhia; e, por sua iniciativa, fez que eu tomasse as minhas refeições com os doentes mais escolhidos.
Entre estes fui encontrar um rapaz português da minha idade, a quem conhecera quando estudante. Travamos relações na pensão da senhora que veio a ser minha sogra. Parece que ele fora daqueles que tinham de voltar pobres. Era um tanto instruído e me foi de um préstimo inesquecível. Não tinha cigarros, ele mos deu; não sabia ir ao refeitório, ele me ensinou; enfim, amaciou as dificuldades do primeiro estabelecimento.
Apesar de não demonstrar vestígio algum de loucura, nem mesmo a alcoólica ou tóxica, Misael era veterano no hospício e me informou muito sobre os loucos, suas manias, seus antecedentes. O meu mergulho naquele mundo estranho foi logo profundo, naqueles quatro dias que nele passei.
Vista assim de longe, a noção do horror que se tem da loucura não parte da verdadeira causa. O que todos julgam, é que a coisa pior de um manicômio é o ruído, são os desatinos dos loucos, o seu delirar em voz alta. É um engano. Perto do louco, quem os observa bem, cuidadosamente, e une cada observação a outra, as associa num quadro geral, o horror misterioso da loucura é o silêncio, são as atitudes, as manias mudas dos doidos.
Há indivíduos que se condenam a um mutismo absoluto, que não conversam com ninguém, não dizem palavra anos e anos. Destes, uns vivem de um lado para outro, outros deitados; ainda outros fazem gestos, e certos outros prorrompem em berreiros.
Alguns, a sua doença atacou-os no aparelho de emissão da palavra. Havia um, mas na outra seção, velho e dizem que de família importante, que falava de onde em onde, mas logo perdia o jeito e emudecia. Tinha delírios terríveis. Corria que em estado de loucura matara uma irmã, na fazenda paterna, com mão-de-pilão.
Alguns não suportam roupa no corpo, às vezes totalmente, outras vezes em parte. Na Seção Pinel, num pátio que ficavam os mais insuportáveis, dez por cento deles andava nu ou seminu. Esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar. Devido à pigmentação negra de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se fica dele, é que tudo é negro. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante; e contemplando uma porção de corpos negros nus, faz ela que as outras se ofusquem no nosso pensamento. É uma luz negra sobre as coisas, na suposição de que, sob essa luz, o nosso olhar pudesse ver alguma coisa. Aí é que há os berradores; mas, como em toda a parte, são só os seus gritos que enchem o ambiente. Eles são relativamente poucos.
Há outros que se degradam no sexo, com uma indiferença de amaldiçoados a isso... É um horror silencioso, que nos apavora e faz-nos cobrir a humanidade de piedade, e nos amedronta sobre a nossa vida a vir.
Olham-se os quartos e todos aqueles homens, muitas vezes moços, sem moléstia comum, que não falam, que não se erguem da cama nem para exercer as mais tirânicas e baixas exigências da nossa natureza, que se urinam, que se rebolcariam no próprio excremento, se não fossem os cuidados dos guardas e enfermeiros, pensa-se profundamente, dolorosamente, angustiosamente sobre nós, sobre o que somos; pergunta-se a si mesmo se cada um de nós está reservado aquele destino de sermos nós mesmos, o nosso próprio pensamento, a nossa própria inteligência, que, por um desarranjo funcional qualquer, se há de encarregar de levar-nos àquela depressão de nossa própria pessoa, àquela depreciação da nossa natureza, que as religiões querem semelhante a Deus, àquela quase morte em vida.
Parece tal espetáculo com os célebres cemitérios de vivos, que um diplomata brasileiro, numa narração de viagem, diz ter havido em Cantão, na China.
Nas imediações dessa cidade, um lugar apropriado de domínio público era reservado aos indigentes que se sentiam morrer. Dava-se-lhes comida, roupa e o caixão fúnebre em que se deviam enterrar. Esperavam tranquilamente a Morte.
Assim me pareceu pela primeira vez que deparei com tal quadro, com repugnância, que provoca a pensar mais profundamente sobre ele, e aquelas sombrias vidas sugerem a noção em torno de nós, de nossa existência e a nossa vida, só vemos uma grande abóbada de trevas, de negro absoluto. Não é mais o dia azul-cobalto e o céu ofuscante, não é mais o negror da noite picado de estrelas palpitantes; é a treva absoluta, é toda ausência de luz, é o mistério impenetrável e um não poderás ir além que confessam a nossa própria inteligência e o próprio pensamento.
A loucura se reveste de várias e infinitas formas; é possível que os estudiosos tenham podido reduzi-las em uma classificação, mas ao leigo ela se apresenta como as árvores, arbustos e lianas de uma floresta: é uma porção de coisas diferentes.
Uma generalização sobre o seu fundo pecaria pela base. Choques morais, deficiência de inteligência, educação, instrução, vícios, todas essas causas determinam formas variadas e desencontradas de loucura; e, às vezes, nenhuma delas o é.
Apela-se para a hereditariedade que tanto pode ser causa nestes como naqueles; e que, se ela fosse exercer tão despoticamente o seu poder, não haveria um só homem de juízo, na terra. É bastante pensar que nós somos como herdeiros de milhares de avós, em cada um de nós se vem encontrar o sangue, as taras deles; por força que, em tal multidão, há de haver detraqués, viciosos, etc., portanto a hereditariedade não há de pesar só sobre este e sobre aquele, cujos antecedentes são conhecidos, mas sobre todos nós homens. Por ser remota? Mas as forças da natureza não contam o tempo; e, às vezes mesmo, as mais poderosas só se fazem notar quando se exercem lentamente, durante séculos e séculos.
A explicação por hereditariedade é cômoda, mas talvez seja pouco lógica.
Sem capacidade nem competência para tratar de semelhante assunto, eu me lembrei de fazer estas considerações, por ter observado entre os meus colegas da Pinel um caso singular de mania.
Eu via um português velho, sempre com um gorro e borla, de barba cerrada, enroupado num grande sobretudo marron, passear de um lado para o outro nos corredores. A sua fisionomia tinha um ar de estampa, sorridente, mas orgulhosa. Perguntei certo dia:
– Misael, quem é aquele doente?
– É um português que foi barbeiro. Os fregueses chamavam-no de Francisco I, imperador da Áustria. Ele se parece, convenceu-se e acabou aqui. Há dias, quando embarcaram uma turma para a colônia, ele foi até ao grupo e recomendou: "Olhem, vocês vão para lá. Se forem maltratados, queixem-se a mim, que sou seu imperador".
Que relação teria a sua loucura com a sua fortuita semelhança com o imperador da Áustria? É possível que ela tivesse alguma intervenção?
Parecia pueril uma tal questão, mas eu a pus sempre, de mim para mim, essa pergunta do poder de auto-sugestão na loucura e também da imitação.
Tomei posse do meu dormitório e despertei maravilhosamente. O meu dormitório era no canto da ala direita do pavimento térreo.
O hospício é bem construído e seria adequado, se não tivesse quatro vezes o número de doentes para que foi planejado. É obra de iniciativa individual, e a sua construção, pode-se dizer, foi custeada pela caridade pública. Nas dádivas e doações, como sempre, nas obras, muito concorreram os portugueses que enriqueceram no comércio. Os chãos parece que já eram da Santa Casa, mas o edifício propriamente é resultado de dádivas e doações. É grande de fachada, com fundo proporcional, acabamento e remates cuidadosos, um pouco sombrio no andar térreo, mais devido aos acréscimos, do que ao plano primitivo, que se adivinha. Acabado de construir em 1852, todo ele trai, no aspecto exterior, ao gosto do pseudoclássico da Revolução e do Império Napoleônico. O seu arquiteto, Domingos Monteiro, foi certamente discípulo da antiga Academia de Belas-Artes e certamente do arquiteto Grandjean de Montigny. É de aspecto frio, severo, solene, com pouco movimento nas massas arquiteturais. Custou naquela época cerca de mil e quinhentos contos, e por aí se pode avaliar a tenacidade de José Clemente, que o ideou e o ergueu, no espaço curto de dez anos. Dizem que há, no salão nobre, uma estátua dele, mandada fazer pelo segundo imperador, que também tem a sua, diante da daquele. Este José Clemente parece não ter sido estadista de grandes vistas políticas, mas pelas posições em que passou deixou traços do seu amor a obras de utilidade pública, sobretudo de assistência.
Interiormente é dividido em salões e quartos, maiores e menores, com janelas todas para o exterior, e portas para os corredores, que olham para os pátios internos.
O meu dormitório ficava no extremo da ala esquerda do edifício, como já disse, e as camas ficavam encostadas ao longo das quatro paredes. Tinha três janelas de sacada para a rua, mas eram inteiramente gradeadas. Via-se o jardim, a rua, os bondes, o mar e as montanhas de Niterói e Teresópolis.
Com o ar azul da enseada de Botafogo, para quem olha, devia ser um alegre retiro, tivesse ele outro destino; mas a beleza do local pouco deve consolar, apreciada através das grades, da triste condição em que se está, torvo o ambiente moral em que ali se respira. A beleza da natureza faz mais triste a quem tem consciência do lugar em que está e, olhando-a com os olhos tristes, ao amanhecer, a impressão que se tem é que não se pode mais sonhar felicidade diante das belas paisagens e das belas coisas...
Assim amanheci. Olhei o mar através das grades, com esses sombrios pensamentos, e recebi essa emoção. Demorei-me pouco vendo-o... Pela enseada adentro, entrava uma falua, com velas enfunadas e muito suavemente deslizava sobre o mar levemente encrespado pelo terral fresco... Passavam banhistas de ambos os sexos. As mulheres, envolvidas em roupões ou lençóis, escondiam as pernas e os braços, mais ainda que os calções e as blusas; os homens, porém, ostentavam-nos com garbo. As pernas, embora musculosas, às vezes, eram hediondas.
Todos olhavam para a grade, e logo saí dela vexado com aquela curiosidade malsã. Domingo, eu não amanheci mais nesse dormitório. O inspetor, tinha resolvido, me transferia para um quarto em que havia um outro doente de consideração. Não me agradou, porque se tratava de um estudante e porque, à sua enfatuação (eu a tive também) de estudante, não devia agradar um companheiro que lhe surgia no estado de mendigo. Tratou-me bem e eu não tive queixa dele durante as duas noites que fui seu companheiro de aposento.
Estava há quatro dias no hospital e não havia recebido visita alguma. Misael salvou-me no que toca a cigarros, o inspetor emprestava-me os jornais; mas não me contentava com isso.
Chamaram-me à noite e, de pé, no corredor para onde se abria a porta da seção, falei com meu sobrinho. Não tive aborrecimento algum, eu tinha convicção da minha manifestação de loucura. O que me amedrontava era a seção. Não os loucos propriamente, mas do que o seu aspecto geral me trazia ao pensamento. Trouxe-me cigarros e eu só lhe reclamei a saída da seção, fosse como fosse. De tanto pensar no meu destino, entrelaçado com o daqueles que me eram companheiros, eu me apavorava mais do que se estivesse no Inferno, perseguido por mil diabos.
Perguntei por todos de casa e despedi-me. Voltei ao interior da seção e fizeram-me mudar a roupa. Foi a primeira satisfação que me oferecia o manicômio. Senti mais integrado na minha dignidade, na minha educação, com aquele pijama que me cobria os tornozelos e os braços.
Não pude fumar um cigarro até ao fim. Vieram-me chamar. Era um bom vizinho, negociante dos subúrbios, humano e compassivo. Minha família comprava na sua venda e, a bem dizer, foi dela que saí da segunda vez para o hospício. Deu-me cigarros e jornais. Conversamos dez minutos, e senti bem, naquele homem simples, de pouca cultura, a piedade profunda que lhe inspirava. Foi a segunda satisfação que o hospício me dava. Havia bondade, simpatia de homem para homem, independente de interesse e parentesco.
Pus-me a ler os jornais. A minha sensação já não era de mágoa e de dor de estar ali; era de esperança da minha correção e da melhoria de todos os homens. A afeição, o amor, a simpatia e a piedade haviam de inspirar um dia alguém que curasse aqueles pobres homens...
Naquele instante, conversando com um companheiro, um outro doente delirava de fazer rir. Não me ri, mas prestei-lhe atenção, simulando ler.
Dizia o doente a outro que, no banco em que era empregado, certas vezes dava a fazer a cobrança de que estava encarregado a outro colega. Este lhe pedia a roupa, os sapatos, o chapéu, o relógio, etc. Um dia, porém, pediu-lhe por empréstimo o nariz, os olhos, os bigodes, etc.
Neguei-lhe, afirmava com energia; como havia eu de viver sem nariz, sem olhos, sem bigodes, enfim, sem a minha cabeça?
O outro, que era também delirante, não vi a que propósito, veio a falar em livros, poetas, etc., porque é próprio do delírio, como toda a gente sabe, não ligar nunca as idéias, às vezes só às palavras, outras vezes nem a uma nem a outra coisa, para continuar a sua manifestação, em estilhaços de pensamentos, de uma que arrebentou sob a pressão da loucura:
– Livros! Tive-os muito bons! fez o homem que não queria emprestar os bigodes. Você já ouviu falar em Luís de Camões?
– É o autor dos Lusíadas, português.
– Qual o que! Sou eu! Era uma obra em que eu há muito tempo trabalhava. Escrevia-o em papel muito bom, com uma excelente caligrafia, quando saía, guardava-o numa escrivaninha à chave. Eu tinha uma criada, uma negra, que era amigada com um português. Certo dia, esqueci-me da chave e, ao voltar para a casa, não encontrei a negra, nem o livro. Ela tinha fugido com o meu trabalho... Passam-se anos e um dia li que, em Lisboa, morrera na miséria um poeta que vivia com uma negra, deixando um poema, intitulado Lusíadas, primoroso... Adivinhei logo a coisa: era o meu trabalho, que a negra tinha roubado e dado ao galego...
– Não reclamou?
– Qual! Não arranjei nada!
O parentesco do delírio do meu companheiro de dormitório com o episódio do jau, da vida de Camões, toda a gente percebe; eu, porém, não intervim na conversa e, até, forcei a atenção para os jornais, a fim de que ela não me arrastasse de novo a pensamentos agoureiros.
Li-os com cuidado, li seções que, normalmente, desprezava, mas não findei a leitura. Misael chamou-me para o jantar.
Nos domingos, era mais cedo, e, como das outras vezes, atravessamos o pátio cheio dos doentes mais incorrigíveis, uns em pé, do lado para outro, outros deitados debaixo daquele sol de dezembro, outros nus e sobre uma esteira, um inteiramente nu, de bruços, com um curativo negro de um cáustico qualquer, que denunciava uma das mais nojentas formas de sodomia. Misael perguntou-me:
– Sabe o que é isso?
– Sei... Há muitos?
– Muitos.
Não quis mais continuar o diálogo, mesmo porque chegávamos ao refeitório.
Odomingo, que tinha amanhecido toldado, nevoento, com o correr do dia se tornou claro e luminoso. O calor bastante sensível não era de sufocar, a viração soprou bem cedo, e a tarde se fez uma esplêndida tarde tropical, tépida, embalsamada de azul e de silêncio imaterial das coisas. Do refeitório, nós víamos as montanhas, e até o Corcovado inclinava-se para o hospício. Acabado o jantar, eu e Misael fomos dar um passeio pela chácara. É vasta e, apesar das modificações, mutilações, que tem sofrido, ainda guarda exemplares das grandes fruteiras que deviam povoá-la há quarenta anos passados. Vi nela uma grande horta, sem viço, sem verdura tenra das couves e repolhos, por ser verão; mas, assim mesmo, ela me interessava todo, me recordava sonhos e projetos.
Gostei sempre muito da casa, do lar; e o meu sonho seria nascer, viver e morrer, na mesma casa. A nossa vida é breve, a experiência só vem depois de um certo número de anos vividos, só os depósitos de reminiscências, de relíquias, as narrações caseiras dos pais, dos velhos parentes, dos antigos criados e agregados é que têm o poder de nos encher a alma do passado, de ligar-nos aos que foram e de nos fazer compreender certas peculiaridades do lugar do nosso nascimento. Todos os desastres da minha vida fizeram que nunca eu pudesse manter uma inabalável, minha, a única propriedade que eu admitia, com as lembranças dos meus antecedentes, com relíquias dos meus amigos, para que tudo isso passasse por sua vez aos meus descendentes, papéis, livros, louças, retratos, quadros, a fim de que eles sentissem bem que tinham raízes fortes no tempo e no espaço e não eram só eles a viver um instante, mas o elo de uma cadeia infinita, precedida de outras cadeias de números infinitos de elos.
Uma horta, um pomar com grandes jaqueiras, mangueiras, laranjeiras, abacateiros, sempre foi o meu sonho; e estavam ali aqueles restos de uma grande chácara, com árvores de mais de meio século de existência, maltratadas, abandonadas, talvez, de toda a contemplação sonhadora de olhos humanos, mas que ainda assim davam prazer, consolavam aquele sombrio lugar de dor e de angústia.
Misael tinha não sei que moléstia nos músculos de uma das pernas que o faziam capengar, e nós, sob a luz coada maternalmente pelas árvores, andamos devagar pela chácara afora.
Havia por ela outros pavilhões, além do de observação. Havia o de epilépticos, o de tuberculosos, e neste eu vi um chin, no último grau, deitado numa cama, debaixo de uma árvore frondosa, que me lembrou de novo o Cemitério dos Vivos de Cantão. Ele tinha todas as duas magrezas: a de tuberculoso e a de chin; e, falando a Misael, eu me admirei que não tivesse tido piedade dele. Quis afastar-me logo; e o china nos ofereceu cigarros. Recusei, por temer o contágio. Surpreendi-me com esse motivo que calara, porque nunca temo pegar moléstia alguma. É espontâneo em mim esse destemor, mesmo nas maiores epidemias que tenho atravessado.
Continuamos a nossa peregrinação. A tarde ainda estava alta e clara; a noite ainda se demoraria a vir.
Por baixo das árvores, havia doentes; e deparei ao lado cerradas touceiras de bambus, cujos colmos se entrelaçavam no alto. Não eram as do Jardim Botânico; mas, no momento, tinham a beleza de me lembrar as ogivais dele. Quem as teria plantado? De quem teria sido aquela chácara? Como as coisas têm às vezes o destino ilógico!
Aquelas árvores, aqueles bambus, destinavam-se a uma remansosa estação de recreio, teriam assistido festas de junho, bulhentas de foguetes e outros fogos, e iluminadas por fogueiras de cultos esquecidos. Os anos as fizeram ver a mais triste moléstia da humanidade, aquela que nos faz outro, aquela que parece querer mostrar que não somos verdadeiramente nada, nos aniquilando na nossa força fundamental.
Parecia que bastava esta ali; mas não era assim.
Fomos ver outra pior, a horrorosa morféia, que, junta com a loucura, é para juntar o horror até ao mais alto grau. Uma deforma, degrada o pensamento; a outra, o corpo, o rosto sobretudo.
Não quis olhar onde estavam alojados os lázaros dementes. Era numa barraca de campanha, erguida sobre espeques, e cujas bordas eram presas por pedregulhos respeitáveis.
A sua moradia era provisória; a Morte não tardaria em levá-los...
Era no fundo da chácara. Os automóveis passavam fonfonando. Adivinhava-os cheios de senhoras, moças, rapazes, homens, cheios de satisfação por ir gozar aquele domingo em Copacabana; na frente, era o mesmo movimento dos que se dirigiam a contemplar a baía, a cidade, o mar e as árvores das montanhas, por cima do Pão de Açúcar.
O hospício estava naquele dia de passeio, quase cercado de alegria, e movimento. Ele, porém, continuava tranqüilo, silencioso, só às vezes o silêncio se quebrava, com um grito isolado de alienado lá nos pavilhões da frente; e nós estávamos diante da mais terrível associação de males que uma pessoa humana pode reunir.
Voltamos pelo mesmo caminho. Olhei o céu tranqüilo, doce, de um azul muito fino. Não se via o sol, que descambava pelas nossas costas.
A tarde continuava bela e agradável. Em meio do caminho, encontramos bandos de crianças loucas, de menos de dez anos, que iam brincar, sob a vigilância de uma enfermeira estrangeira, alemã, parecia.
Havia de todas as cores, e todas eram feias, algumas mesmo aleijadas.
Continuamos a volta. Eu olhei o muro que dava para uma das ruas, onde corriam os automóveis, e calculei sua altura pela minha, que eu sabia de cor...
IV
Segunda-feira, logo após o almoço, o superintendente da seção chamou-me e disse-me:
– Senhor Mascarenhas, vamos à presença do diretor. Pus o cigarro fora, ele mesmo ajudou-me a compor o meu vestuário, e lá fui eu. Em caminho, perguntou-me o chefe da enfermaria:
– O senhor conhece o diretor?
– Conheço, respondi.
A segurança da minha resposta pareceu intrigar o meu caridoso pastor. Adivinhei, de mim para mim, que ele se fazia a seguinte pergunta: como é que este rapaz conhece assim o diretor, e logo não reclamou uma melhoria de situação, e deixou que eu espontaneamente o fizesse?
Seria simples a explicação, se ele me conhecesse melhor. A minha consciência, a certeza em que eu estava de que o culpado de estar ali era eu, era a minha fraca vontade, que, entretanto, era forte em outros sentidos, obrigavam-me, para meu decoro moral, a nada pedir aos camaradas que me suavizassem a minha situação. De resto, eu já tinha obtido o razoável para um sujeito que foi recolhido a um hospital público como um va-nu-pieds Longe de acusar os outros, longe de censurar aqueles desconhecidos e semi-desconhecidos com os quais lidei com essa classificação social, eu só tinha que dizer bem deles, pois me julgando assim, em nada me ofenderam ou maltrataram. As pequenas coisas que feriam o meu amor-próprio e que me desgostavam intimamente, eram decorrentes do modo por que eu ia me conduzindo na vida, deixando cair, aniquilando-me. É curioso agora notar que o que mais me impressionava nos loucos era a mania depressiva, eram os efeitos da moléstia, a conduzir o indivíduo para o esquecimento do seu corpo, da sua dignidade de homem, da obliteração, senão apagamento, de todas as manifestações externas de sua alma, de sua vida...
Conhecia perfeitamente o diretor e travei conhecimento com ele espontaneamente. Havia em mim uma atração para ele, e eu me espantava que ele pudesse, sem barulho, mansamente, se fazer até onde estava. Pouco conhecia de sua vida, mas conhecia bem a geral e de outros no seu caso, para achar a dele surpreendente. Ele tinha mesmo qualidades nativas de sedução e despertar simpatias; mas, se isso se dava nele, e se dá em muitos outros, entretanto, não despertava, não provocava antipatias, o que é inevitável, desde que a nossa força na vida venha da capacidade oposta, como acontecia com ele.
Todos gabavam muito o seu talento, a sua ilustração; mas não era bem por isso que eu o amava. Nunca lhe tinha lido um trabalho, só mais tarde me foi dado fazer isso, não tinha nenhuma ilustração no assunto do seu caber para julgar; mas, conquanto sentisse logo um homem superior, eu o amava pela sua exalação de doçura.
Logo que fui à sua presença, estava ele sentado a uma pequena mesa, modesta e sem traduzir nenhuma imponência burocrática, muito semelhante àquela em que escrevo em casa. Deu comigo, fez-me sentar a seu lado e perguntou-me, sem nenhuma censura nas palavras e nem no acento da fala ou no olhar:
– Você, Mascarenhas, quer ficar embaixo ou em cima?
– Em cima, doutor; lá há uma biblioteca...
– Pois bem; vá lá pra cima.
E foi assim que, antes de ter meu sobrinho dado o menor passo para a minha transferência, ela me foi dada, e tive um pequeno alívio na minha sorte de maluco periódico.
A biblioteca era a dependência da seção de que mais me recordava. Quando estive lá pela primeira vez, enchia o tempo lá, lendo. Havia um razoável número de livros, mas, além dos muitos dilacerados, havia obras desfalcadas nos seus volumes. Logo ao entrar, depois de mudar de roupa, tratei de me instalar nela. Tinha mudado de local; era agora logo na entrada, quando antigamente era no fundo. Fui vê-la. Estava pobríssima, não havia mais o Vapereau, dicionário de literatura, tão interessante; não havia mais uns volumes de Dostoiévski, nenhum deles escapara; os segundos românticos nacionais tinham desaparecido; e, dos primeiros, só restava um volume de Gonçalves Dias.
Mesmo da vez passada, a biblioteca do hospício não era um modelo de lógica, não a tinha presidido nenhum espírito; tinha de tudo, mas como a massa dos volumes era de literatura de ficção, não se observava bem o absurdo de certas associações de obras. Agora, não; ele ressaltava francamente. Os livros de ficção eram poucos; entretanto de Bourget, de quem não havia só romance, se encontravam os dois volumes de Essais de psychologie contemporaine, em magnífico estado; a Bohème galante, de Gérard de Nerval, estava conservada, assim como o Romance de Pedro, o Grande tinha os dois volumes em magnífico estado.
Encontravam-se, porém, outros livros, que não se sabia bem como foram ali parar. Por exemplo, eu achei nela livros estreitamente especiais, como estes: L’État civil des nouveau-nés, cujo autor não me recordo; safados relatórios oficiais de vários ministérios, que, entretanto, apesar da sua aridez, eram muito procurados; Études sur Colbert, por Jubleaux, que me pareceu uma bela obra, embora a não pudesse ler; Histoire des classes rurales en France; E. Poirier – Le Chili en 1908; e um La mer rouge, Le darwinisme, em que o doutor F. Jousseaume combatia as opiniões de Darwin sobre a formação dos bancos e recifes calcários, com muito luxo de palavras de má literatura, assim como a teoria do calor central, ou por outra, de um núcleo ígneo no centro da terra, com bastante razão. Pode parecer fatigante, mas não me é possível deixar de citar mais estas três obras exóticas por demais ali: Le chien, Gayot; um tratado de xadrez; Annuaire du crédit public, de 60 a 61. Dois romances dessa curiosa literatura de colégio de irmãs de caridade encontrei também. Eram de uma virtuosa, certamente, dama – Dona Gabrielle Coni e se intitulavam: Vers l’oeuvre douce e Fleur não sei de que. Um estava dilacerado, mas no outro procurei descobrir indícios de quem fosse, não encontrei. Em alguns, havia. O forte, porém, da biblioteca eram duas coleções, com vinte e tantos volumes, da Biblioteca das Obras Célebres.
O salão da biblioteca era mobiliado com pequenas mesas de peroba, em três filas com quatro delas, cadeiras comuns, duas em cada mesa, cadeiras de balanço e duas espécies de divãs com enxergão de arame, próprios à leitura, mas no qual dormiam aqueles que precisavam companheiros, senão bulha, para conciliar o sono.
Tinha três janelas de sacada, mas gradeadas, e via-se bem próximo o Pão de Açúcar, a Urca, surgindo das ondas suavemente, sem luta, nem a interrupção que a denunciasse na transição de uma praia.
Entrando na biblioteca, muito naturalmente, pois já estava acostumado aos costumes da casa, tirei a esmo um volume dos vinte e dois ou quatro das Obras Célebres. Não conhecia essa obra, implicava mesmo com ela; mas, como vão ver, ela tem o dom de sugerir, de encaminhar, pelos excertos que traz, em geral bem escolhidos, à leitura dos autores que recorta.
Deixei mesmo Renan: Dialogues philosophiques e Feuilles détachées, que não me causaram surpresa achá-los ali, embora não me lembrasse de tê-los visto da outra vez em que estive.
Os doentes continuavam a passar ao corredor, a entrar e a sair no salão, a tirar livros e consultá-los durante minutos, e, depois, desandavam a delirar. Um ou outro de fato lia, mas as obras mais vulgares que lá existiam.
Não tinha até então falado com nenhum. Tanto nesta como na outra seção, eu me surpreendi de topar com tanta fisionomia conhecida vagamente. Umas me pareciam de antigos colegas do colégio ou de escola superior; outras, de cafés, de festas, de vizinhança, de conduções públicas. Conquanto isso, não me atrevia a dirigir-lhes a palavra e perguntar-lhes:
– O senhor não me conhece? Eu me lembro do senhor.
Era preciso travar conhecimento com os meus tristes companheiros de isolamento e de segregação social. Deixei para depois e dispus-me a ler. Procurei no índice e encontrei este artigo: Lewis – "Abelardo e Heloísa."
O autor do artigo que precedia uma ou duas cartas de Heloísa era o muito conhecido autor inglês, autor de uma famosa vida de Goethe, e cujas relações com George Eliot ficaram famosas. Trabalho muito curioso o seu artigo sobre o famoso filósofo do Medievo, mas que, em resumo, censura em Abelardo o que se pode censurar em todo o grande homem: um amor muito maior à sua obra, ou talvez aos seus projetos, do que às pessoas que o amam. Ele vai a ponto de dizer que no forte amor que ele inspirou a Heloísa, entrou cálculo de aproveitar as deficiências de sua instrução com as sobras da de sua amada, fugindo ao casamento público, para obter grandes posições na clericatura.
Não me sobra conhecimento para contrariar esse julgamento; mas, conquanto achasse justo na primeira leitura, hoje partilho a opinião de Heloísa, que mais o queria glorioso, do que exemplar chefe de família, porquanto a sua glória, que unicamente ele a podia realizar, precisava da sua dedicação e do sacrifício de outros muitos, para ser útil a todos.
Quando pensei nisso, compreendi melhor minha mulher. O que me assoberbavam eram dificuldades de toda a ordem, especialmente de dinheiro, coisas caseiras e triviais; e eu, que nunca lhe tinha confiado meus projetos e escrevera coisas vulgares e pouco acima do médio, merecia que Efigênia nunca me atormentasse com as coisas triviais da casa. O que me roía, era o silêncio, era calar, esconder o que eu tinha de mais eu mesmo na minha vida. Nunca confiei e não sei como, talvez lendo uma nota ou outra, ela veio a compreender, como só muito mais tarde vim a inferir pelas suas frases isoladas, pelos seus conselhos, pelos seus olhares.
Essa descoberta não só me trouxe um grande desgosto e arrependimento, como uma convicção íntima da fraqueza da minha inteligência.
Vieram-me essas e outras considerações menores, à leitura daqueles extraordinários fragmentos, e eu chegava a este período de uma carta de Heloísa: "Se é verdade que os pesares comunicados a quem deveras nos ama, se dividem e partem ao meio, vós, meu caro Abelardo, vos vereis por este modo (escrevendo a ela) aliviado de metade do peso que vos oprime".
Mal tinha acabado a leitura, quando uma voz forte, jovial e atraente, falou a meu lado:
– O senhor não é o Vicente Mascarenhas?
– Sou.
– Conheço-o de vista e de nome. Não escreveu na Lux, do Ribeiro Botelho?
De fato, eu havia escrito nessa pequena revista uma coisa sem valor algum; e aquele rapaz que me falava a tinha lido, por ser amigo do editor da publicação.
Deu-se a conhecer. Era irmão do Samuel Cavalcanti, jornalista, amigo do Tibério de Belém, também poeta e homem de jornal, e chamava-se Godofredo Cavalcanti. O todo do rapaz não era do maluco comum, ele falava com desembaraço e siso, e obedecia em tudo as regras da conveniência e polidez. Achei estranho que, ali, afinal dentro de casa, ele vivesse sobraçando um maço de jornais, assim como quem está fora e vai levá-los para a sua residência.
Godofredo apresentou-me logo a diversos doentes e eles me cercaram a mesa. A um ele me apresentou como o Capitão do Exército Carvalho Nascimento, a outro como o doutor Rufino Bezerra, e assim por diante. Por fim, ficamos nós ambos sós, e Godofredo começava a contar-me uma história, quando se aproximou um rapaz de menos de trinta anos, magro, de uma boniteza feminina, pele fina, com a cabeça coberta com um lenço úmido. O meu introdutor interrompeu o que dizia e, de mau humor exclamou:
– Já vem você, Ribeiro! Não se pode conversar uma coisa que você não venha se meter! Que falta de educação!
– Já sei, fez o outro, que você, Godofredo, é o homem mais polido do hospício.
– Sou, sim. Meu pai, que não tinha título algum, que não era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, como meu irmão Samuel, foi convidado pelo doutor João Barbalho Uchoa Cavalcanti para representar o Brasil nos Estados Unidos.
– Isto foi o pai de você, comentou o outro.
– E eu também, que já tenho três preparatórios e sou o ai-jesus! de meu pai.
Eu não tive tempo de acabar o meu pensamento, estranho o orgulho daquele trintão de ter quatro preparatórios, veio interrompê-lo uma forte pancada de uma cadeira contra o assoalho e uns berros incompreensíveis, que, acompanhando o gesto violento, soltava o Capitão Carvalho Nascimento.
Pelo correr da minha estadia no estabelecimento, fui me habituando a essa manifestação da loucura desse oficial do Exército. Ele andava de um lado para o outro, gritava coisas desconexas, repentinamente soltava um forte berro, agarrava uma cadeira com toda a força contra o solo, batia com estrondo uma porta.
Eque magníficas e fortes portas eram aquelas do hospício! De canela com fechos e guarnições destes de cobre!
Cavalcanti, sem se despedir de mim, lá se foi, e eu fiquei sentado ali, sentindo bem que aquela biblioteca podia se destinar a tudo, menos à leitura.
O chefe da enfermaria tinha estado fora e voltava, quando deu comigo. Não houve espanto em encontrar-me segunda vez e, creio mesmo, ele já tinha notícias da minha segunda entrada.
– Oh! Vicente! Você aqui?
– É isto, Seu Carneiro. Cá estou.
– Bem.
Olhou-me a roupa, o cabelo, a barba e perguntou-me:
– Já te deram cama?
– Ainda não, senhor.
– Vou tratar disso, disse-me ele.
Foi-se agitando os braços, com a cabeça inclinada para o chão. Este Carneiro, que devia orçar pelos sessenta ou sessenta e poucos anos, há quase quarenta lidava com doidos.
Ele era empregado do hospício, desde o tempo em que a superintendência da sua administração estava a cargo da Santa Casa de Misericórdia. Fora enfermeiro-mor das colônias da ilha do Governador e voltara ao hospício.
Aí as suas funções eram quase de supremo comando, pois a colônia de que ele era enfermeiro-mor, ficava distante da outra que era sede da diretoria, cerca de três quilômetros, e ele por si tinha que decidir toda a matéria de urgência.
Eu conheço o local dessa colônia. Fica numa ponta de terra, que faz um canal de pequena largura com uma outra ilha, a do Fundão, que lhe fica fronteira. As suas terras são de um campo arenoso e extenso, que margina o braço de mar que separa a ilha do Governador do litoral da Penha. O campo é em grande parte coberto de dois quadriláteros inscritos de mangueiras, anosas, solenes, e silenciosas. Dizem que a casa o foi de campo do rei Dom João VI e as mangueiras ele já as conheceu taludas. O lugar é propício a melancolia e o pensar vagabundo dos que sonham despertos... É de imaginar como esse pobre Carneiro sonhava a sua terra de Portugal, a vida de sua aldeia minhota, como se recordaria do odor e do sabor do vinho de lá, naquela ponta de ilha, com aquela guarda negra de mangueiras centenárias, olhando as serras solenes e graves do Rio de Janeiro... Ele nunca me falou nisso e talvez mesmo não soubesse dizer o que aquela singular paisagem de grandeza e tristeza grave lhe sugeriu ao pensamento e retirou de dentro do fundo d’alma. Só ele sabia, e só dele para ele ela lhe podia falar. Muitas das grandiosas mangueiras tinham sido feridas pelo raio e muitas outras, feridas pela Morte, secavam em pé, como se vivas fossem...
Quarenta anos de pajear doidos deve ser uma das missões mais árduas e tristes ofícios desta vida; e, então, ele, que convivia com eles, com eles a modos que comia e dormia, pois poucas vezes saía dos manicômios em que foi empregado, devia ter desta nossa existência uma idéia bastante atroz e curiosa. Havia de ter-lhe sido preciso uma resignação de santo, para aturar-lhes os insultos e muitas vezes as agressões; e, além disto, uma abdicação de fruir e gozar daquilo tudo que faz o encanto e o motivo de nossa vida. Era quase uma vida de cenóbio, pois eram verdadeiramente rápidos os instantes em que passeava e via a mulher e os filhos, assim mesmo a longos intervalos. A insânia cria complicações, dores e sofrimentos que não ficam só naqueles que são atingidos, mas vão se refletir nos outros, talvez mais profundamente, deste ou daquele modo.
Ouvir durante o dia, senão à noite, disparates e tolices, receber as reclamações mais pueris e desarrazoadas, adivinhar manhas perigosas que a insânia engendra, todo esse ambiente moral e intelectual da loucura, tão complicado como a própria vida, mas sem um acordo qualquer entre as suas partes, deve ser, durante quarenta anos, uma razão para tristeza, para renunciamento de si, para sonhar com a ventura da Morte, que é o sossego.
O mister desses humildes guardas fez-me pensar e entristecer; mas naqueles exemplos de renúncia e abnegação, tão-somente movidos pela dura necessidade de ganhar o pão de cada dia, retemperei-me eu, para imitá-los, a fim de chegar são, sem o afluxo de aquisições, externas aonde o destino me levasse, fosse como fosse.
Mais de uma vez estive no hospício; e quer me tratassem como doente vulgar e sem recomendação, quer me tratassem com recomendação, afora este ou aquele movimento de mau humor e impaciência, eu só posso dizer bem desses pobres homens, humildes camponeses portugueses, rudes decerto, às vezes mesmo chucros que eram eles, no seu penoso e árduo ofício.
Imaginar que homens mal saídos da gleba do Minho e alguns nacionais de condição modesta pudessem ter certa delicadeza, resignação, paciência, para suportar os loucos e as suas manias!
A maioria é de obedientes e dóceis; mas uma pequena parte é de rebeldes, de insuportáveis, já pelos gestos, já pelos atos,. já pelas conseqüências passivas de sua moléstia mental.
Alguns, quando lhes vem a mania, sem provocação, nem causa, os descompõem de galegos, de gringos, de negros, etc.; outros vão até à agressão; outros se recusam a comer, rasgam a roupa, emporcalham-se de fezes e urina...
De todos guardo boas recordações. A vida, em geral, entre os doentes e guardas, é da mais estreita familiaridade. Os malucos tratam as suas sentinelas de você e estes da mesma forma aos dementados. Só abrem exceções, os guardas, para os formados nisto ou naquilo e para os que têm honras militares. Não quer dizer, porém, que um ou outro não seja chamado por "seu" fulano; mas são poucos, os mais velhos, os mais graves de atitudes e gestos. Há também apelidos, como em todas as prisões, internatos e quartéis. O Gato era até famoso.
Todos os doentes se habituavam a serem tratados assim e não demonstravam nenhum mau humor. Os empregados pedem cigarros aos doentes e os doentes a eles. Só não jogam pontos, cartas, bilhar, xadrez. Muitos auxiliam os empregados na sua tarefa de baldeação e outros serviços. Se alguns destes, pela sua profissão, podem facilmente sujeitar-se a tais tarefas, outros há que parecia nunca se poderem adaptar a tais misteres.
Os corredores, salões e quartos são encerados e, de manhã, antes e depois do café, de parceria, empregados e doentes dão cera ao assoalho e esfregam-no com escovas presas a grandes tocos de madeira pesada ou aos pés, por atilhos.
Os atritos entre guardas e doentes são raros, mas os há, porque muitos destes são deveras insuportáveis, e alguns guardas são impacientes, por fadiga ou por gênio; mas, em geral, as relações são amistosas.
Nesta minha última estadia, só impliquei com dois empregados. Um, no pavilhão, foi o inspetor de pessoal menor. Ele tinha uma fisionomia real da casa de Bragança e um ar de quem tratava com subalternos. Feriu-me um pouco a vaidade semelhante atrevimento do sujeito, esquecido, entretanto, que o soldado de polícia mais comum também tem esse ar, quando trata com qualquer pessoa, sem que, entretanto, se esteja doido.
Essa implicância passou-me logo, não porque me viesse ele tratar de outra forma mais tarde; sempre me convenci de que não devia guardar o mínimo rancor por semelhante tolice.
O outro guarda com quem impliquei, foi na Seção Pinel. O chefe dos enfermeiros tinha determinado que eu passasse do dormitório geral em que estava, para um quarto separado, como já contei. Estava eu sentado à borda da cama, quando apareceu na porta um guarda e gritou:
– Quem é Vicente Mascarenhas, aí?
– Sou eu, respondi.
– "Seu" Orestes, o enfermeiro-mor, disse para você levar a cama e tudo para o quarto de dentro.
E ficou encostado no umbral da porta, com as chaves na mão. Olhei-o um pouco. Era um rapaz encurvado, baixo, com cabelos em desordem propositada; tinha um ar de seresteiro, de cantor de modinhas. Esperei um pouco que ele me viesse a ajudar a carregar a cama, mas tal não fez. Foi preciso que um outro doente se apressasse em fazê-lo, para cumprir a ordem.
Esse guarda era brasileiro e está se vendo no seu ato essa malsã vaidade nossa de mandar, de querer fugir à verdadeira situação do seu emprego e ter de qualquer modo uma importância, por mínima que seja. Não há nenhum de nós que não tenha passado por isso, e a explicação do ato desse servente ou guarda pode ser mostrada na frase de um que, admitido hoje, se despediu amanhã, "porque não queria ser criado de maluco", ou de um outro, também brasileiro, que, estando na sala de banho, não conhecendo um interno que estava presente, desandou uma descompostura do mais baixo calão num doente, porque este não ouvira uma "ordem" dele para lhe trazer o sabão, e, por não a ter ouvido, não a atendera.
Não se infira daí que todos os brasileiros são assim. Lá encontrei mais de uns nacionais, que tinham as boas qualidades dos estrangeiros. O que se revela aí é esse lado mau do nosso caráter nacional, de exibição de mando e autoridade, de executar a tarefa a que conscientemente nos obrigamos a executar.
Desse último guarda que assim me tratou, se não guardei rancor, nunca mais lhe falei nem o cumprimentei; e, ao que me parece, ele percebeu perfeitamente a queixa que eu tinha dele.
Um dos horrores de qualquer reclusão é nunca se poder estar só. No meio daquela multidão, há sempre um que nos vem falar isto ou aquilo. No hospício, eu ressenti esse incômodo que só pode ser compreendido por quem já se viu recolhido a qualquer prisão; lá, porém, é pior do que em outra qualquer, sobretudo quando se está perfeitamente lúcido, como eu estava, e não pode, por piedade, tratar com mau humor os outros companheiros, que são doentes.
Logo, no primeiro dia, travei eu conhecimento com esse agudo e miúdo suplício, próprio ao meu estado. O chefe Carneiro tinha-me informado onde era a minha cama e o meu dormitório. Sentia-me fatigado de espírito, desejoso de interrogar-me a mim mesmo, de pensar nos meus problemas íntimos, de fugir um instante daquele brouhaha, hospitalar. Deitei-me na cama e quis recordar-me dos episódios da minha entrada, das tolices que fizera. Sempre fiz esse exercício de memória, que julgava conveniente para conservá-la sempre fiel e pronta para o que apelasse para ela. Não tinha bem começado, quando um menino, que até ali não tinha visto, veio para junto de mim:
– O senhor me dá um cigarro?
Dei-lhe o cigarro e esperava que, após acendê-lo, se fosse, mas assim não foi. Continuou:
– O senhor sofre de ataques?
Disse-lhe que não e olhei bem a criança. Não devia ter dezessete anos; era forte e simpático. Lembrei-me logo de meu filho e uma mágoa imensa me invadiu, pensando no destino dele. Vi-o ali, daqui a anos, talvez. Perguntei ao rapazola:
– Por quê? Você sofre?
Ele me disse que sim, que tinha uns ataques; mas não eram epilépticos, e emendou a confissão de vícios seus, que me encheram de desgosto e tristeza. Não era só por ele; era também pela minha descendência que eu sofria particularmente. Que culpa oculta haveria em mim no tenebroso destino que eu augurava para o meu pequeno? A tal hereditariedade dos sábios... E me repontaram todas as dúvidas, que eu e tanta gente tinha trocado essa antiga crendice popular, agora transformada em artigo de fé; e me lembrei também da salutar regra do mestre de não admitir como verdade senão o que, sem prevenção e precipitação, não contivesse nada de mais; senão o que se apresentasse tão claramente e distintamente no meu espírito, de forma que não tivesse nunca ocasião de pôr em dúvida.
Pensei tudo isto muito rapidamente, porquanto o rapaz doente não me deixava, fazendo perguntas sobre perguntas.
Levantei-me, fui para o corredor, esperando que ele me deixasse. O menino, porém, não me abandonava. Tinha vontade de romper com ele, de falar-lhe com a energia; mas a lembrança do meu filho...
Eu o via forte e robusto, como era, mesmo brutal, toda a vida encarcerado ali pelo maldito ataque, cujo aparecimento não se pode prever...
Bateram palmas; era hora do jantar. O menino me deixou afinal, e eu segui no meio da multidão de loucos para o refeitório.
Era, como já disse, este o mesmo em que tomava as minhas refeições, quando estive na outra seção, do pavilhão moderno, amplo, claro, mas, pela tarde, à hora do jantar, o sol espadanava por ele afora, que era um regalo. Superintendia esse serviço uma velha portuguesa, ajudada por outra mais moça, além dos copeiros e guardas.
Mudaram-me de local; passei a sentar-me com outros mais bem classificados. Preferia ter ficado ao pé dos antigos companheiros, sobretudo do rapaz português, pois com ele me havia relacionado intimamente, ou melhor, reatado relações antigas.
Acomida, isto é, o seu sabor ou quantidade não me faziam nenhuma mossa; apesar de estar quase oito dias no manicômio, a minha fome era escassa; mas não era pelo seu sabor que eu; não ingeria, era pelo mau estado do estômago, e talvez mesmo angústia espiritual.
Contudo, eu sentia muito prazer quando soava as horas das refeições. É que, nesses instantes, a vida ali, dentro variava um pouco, eu me sentia mais livre, o olhar abarcava mais horizonte do que aquele que se via pelas janelas gradeadas da seção.
A mudança de lugar no refeitório não a recebi bem, não só pela falta do companheiro que me conhecia desde menino, e me era por isso muito simpático, mas também porque me deram uma posição de cabeceira, tendo ao lado dois doentes que eu não suportava.
É incrível que se possa simpatizar ou antipatizar com malucos e com a maluqueira deles; no correr desta narração, terei de confessar isso, que me vexa, mas é verdade.
O doente da esquerda era um engenheiro, Bernardes, que, num acesso de loucura, no Norte, matara, segundo me informaram mais tarde, a mulher e um filho. Era arrogante, lia o dia inteiro o jornal e toda a manhã pedia papel e envelope ao chefe Carneiro, para escrever a sua correspondência ao presidente da República, no gabinete do médico. Vivia na biblioteca, lendo o jornal e fazendo em voz alta, de quando em quando, uma reflexão sobre a leitura. Comia ovos cozidos e frutas, e do comer comum só se servia de carne. Assim, vinham para ele diversos pratos e, desde que se servia de um deles e esvaziava o conteúdo sobre aquele em que comia, arredava o outro muito senhorialmente para o meu lado, com um gesto de pouco caso. Certo dia, sem dizer uma palavra, quando ele isso fez, de novo eu arredei o prato para o seu lado.
O do lado direito era um teuto-brasileiro, antigo empregado de banco, alto, membrudo, era simplesmente epiléptico; mas, apesar de falar mal dos alemães, sentia-se a sua primeira educação no orgulho alemão.
Ambos me desgostavam por comer ali contrafeito; vim a sair dali, mas contarei como, mais tarde.
A refeição durava muito pouco, cerca de meia hora; e, após ela, vinha o tormento do pedido de cigarros. Nisso ainda, eu não era vítima dele; mas, ao depois, foi uma das minhas quizílias com o hospício.
Aborrecido, tristonho, sem ter o meu amigo português, para trocar umas lembranças, desejoso de fugir da convivência dos meus companheiros, eu corri logo ao dormitório, deitei-me e acendi um cigarro. Para mim, eram as mais tristes horas que passei no hospital, aquelas que vão da refeição até à hora do sono. Durante as outras, há sempre uma esperança para nos animar e sustentar o espírito: são as das refeições. Marca-se a vida daquelas horas vazias de que fazer, de ócio obrigado, mas cheias de tédio, por elas, mas, depois do jantar, não há mais nenhum marco no tempo que vai correr, senão o duvidoso do instante em que se concilie o sono. Vem então uma melancolia, que a luz da tarde faz mais sombria, mais física, mais dolorosa; e o nosso pensamento, quando pára em alguma coisa, é para os tristes episódios da nossa vida. Eu ali, naquele hospício, no meio da vida, com tantas dores na vida, as que me vieram sem culpa minha, inclusive a minha organização, as que eu mesmo engendrei, cheio de vida e de bondade, não era bem a morte que eu queria, não era o aniquilamento da minha pessoa, a sua fragmentação até ao infinito, nas coisas e nos seres, era outra vida, mais cheia de amor, de crença, de ilusão, sem nenhum poder de análise e isenta de toda e qualquer capacidade de exame sobre mim mesmo.
Via todos os meus tropeços, todas as tolices que tinha feito, o tempo perdido nela, as minhas hesitações, os meus pavores, que não deviam existir e que só me faziam sofrer. Eu devia ser reto como uma seta e rápido como um raio; mas vinha a pensar na minha vida atribulada, na saudade da minha mulher, no arrependimento que eu tinha de não tê-la compreendido em tempo... no meu filho... na minha sogra... na minha embriaguez.
Então, quando esta surgia à tona do meu pensamento, lá vinham recordações dos meus companheiros de pândega mortos, quase todos bons, quase todos amigos mesmo meus, sobre cuja amizade durante muito tempo as minhas torturas repousaram e as deles também. E fulano? E sicrano? E este? E aquela ronda de mortos lá surgiam aos meus olhos, sem álcool, bons, quase todos inteligentes e cavalheiros. E os episódios também vinham, e os fantásticos passeios por todo o Rio eram relembrados por mim. Nessa primeira tarde, na Seção Calmeil, deitado só, apesar da bulha que os loucos faziam nos corredores e nos salões, me recordei, sem saber como, de um fato que se deu comigo e um outro companheiro.
Já morreu; e nós fomos buscá-lo ao necrotério. Todas as tardes éramos vistos juntos. Toda a tarde, ao sair do serviço, o procurava, e ficávamos parados, de pé, nas ruas centrais a ver passar as moças bem vestidas. Tinha a mania de não entrar cedo em casa, com a luz do sol, porque me aborrecia aquele dever de cumprimentar os vizinhos; porque, em casa, em face de toda a sua tristeza, logo me vinha a imagem cruel da catástrofe doméstica, da subversão da minha vida, da sua impotência, do seu não valor.
Aborrecia-me de não dar uma satisfação aos que me instruíram generosamente e procurava distrair-me na cidade...
Esse meu amigo era meu inevitável companheiro. Certo dia, bebemos muito, e todas as casas já se fechavam, quando lhe disse:
– Sousa, você me leva até o bonde.
Eu o tomava na rua XXX, e para ela nos dirigimos. Encostei-me ao poste de parada, balouçando. Era mais de uma hora da noite. A rua, naquele trecho, não tinha nem uma casa aberta. Passava um transeunte ou outro. Automóvel não me lembro de ter visto passar um. Não falava quase. Num dado momento, caí e estendi-me no asfalto da rua. O meu companheiro, que era mais forte do que eu, e, naquele momento, o era excessivamente mais, ergueu-me do chão e encostou-me à parede. De repente, segundo me contou o amigo, veio uma rapariga preta, surgida de qualquer parte, e, dirigindo-se à patroa, falou ao meu camarada nestes termos:
– A patroa manda perguntar o que tem o doutor Vicente.
Meu amigo respondeu:
– O doutor Vicente está um pouco incomodado, devido a ter se excedido um pouco. Não é nada, ele vai para casa...
A rapariga foi-se e logo após voltou:
– Apatroa manda este remédio para o senhor fazer o doutor Vicente cheirar.
Ele fez o que lhe era recomendado e quis restituir o vidro à rapariga. Tinha eu melhorado um pouco, já via alguma coisa, mas não ouvi o que ela recomendou nestas palavras que me foram narradas dias depois pelo meu amigo:
– Não, não; o senhor deve. A patroa disse que o senhor acompanhasse o doutor até em casa e fizesse ele cheirar durante o caminho todo.
O vidro continha amônia, e eu ainda o conservo vazio entre outras coisas curiosas da minha vida. Quem foi que o mandou?
Esforcei-me por descobrir, andei a rua várias vezes, de. alto abaixo, vasculhando os sobrados, a todas as horas dó dia, nas horas da noite que me era dado passar por ela; e, até hoje, não sei quem foi...
V
Desde opavilhão que eu vinha conhecendo médicos. Na seção anterior em que eu estive, conheci dois. Logo à entrada, um moço ao qual já me referi; e, no dia seguinte, um outro mais graduado. Conhecia-o e ele a mim; mas, simplesmente, de vista. Não se dando ele a conhecer, não me competia a mim fazê-lo, no estado de humilhação em que estava. Suportei-o diante dele, com toda a dignidade, e fiquei contente comigo mesmo. Sem ter motivo algum para isso, eu não queria ficar aos seus cuidados. Eu o tinha por muito amante de novidades, de experiências, e o meu temor é que ele viesse a cismar que eu era um magnífico campo para algumas delas.
Faziam-me perguntas de confessor, e eu as respondia com toda a veracidade de catecúmeno obediente; mas, no meu íntimo, eu tinha para mim que tudo aquilo era inútil. Há uma classificação, segundo este ou aquele; há uma terminologia sábia; há descrições argutas de tais e quais casos, revelando pacientes observações; mas uma explicação da loucura, mecânica, científica, atribuída a falta ou desarranjo de tal ou qual elemento ou órgão da nossa natureza, parece que só há para raros casos, se há.
Procuram os antecedentes, para determinar a origem do paciente que está ali, como herdeiro de taras ancestrais; mas não há homem que não as tenha, e se elas determinam loucura, a humanidade toda seria de loucos. Cada homem representa a herança de um número infinito de homens, resume uma população, e é de crer que nessa houvesse fatalmente, pelo menos, um degenerado, um alcoólico, etc. etc.
De resto, os filhos de loucos são gerados por pais que estão loucos, mas tarde é que a sandice aparece; como é então que ele herdou? Tinha a loucura incubada, em gérmen, etc.?
A explicação é acomodada, mas não é leal, antes traduz o desejo de não invalidar uma sentença. Há homens que, durante uma existência inteira, não demonstram o mínimo sinal de loucura e, ao fim da vida, perdem o juízo. As maravilhas que a ciência tem conseguido realizar, por intermédio das artes técnicas, no campo da mecânica e da indústria, têm dado aos homens uma crença de que é possível realizá-las iguais nos outros departamentos da atividade intelectual; daí, o orgulho médico, que, não contente de se exercer no âmbito da medicina propriamente, se estende a esse vago e nebuloso céu da loucura humana.
Eu tinha muito medo do meu médico da Seção Pinel; ele tinha o orgulho e a fé na sua atividade intelectual, e os pontos de dúvida que deviam tirar do seu espírito o sentimento de sua evidência, pareciam que antes reforçavam-no.
Há um grande mal em querer os nossos estudiosos de hoje desprezar as observações dos leigos; muitas vezes é preciso estar livre de construções lógicas, erguidas a priori, para se chegar à verdade, e não há como levar em linha de conta aquelas.
Isis, como todos os Deuses e Deusas, gosta muitas vezes de abrir uma frestazinha no seu véu impenetrável aos simples e aos néscios...
A minha transferência para outra seção, onde ia ficar aos cuidados de outro médico, deu-me muita satisfação, entre outras, por isso mesmo.
O terrível nessa coisa de hospital é ter-se de receber um médico que nos é imposto e muitas vezes não é da nossa confiança. Além disso, o médico que tem em sua frente um doente, de que a polícia é tutor e a impersonalidade da lei, curador, por melhor que seja, não o tem mais na conta de gente, é um náufrago, um rebotalho da sociedade, a sua infelicidade e desgraça podem ainda ser úteis à salvação dos outros, e a sua teima em não querer prestar esse serviço aparece aos olhos do facultativo, como a revolta de um detento, em nome da Constituição, aos olhos de um delegado de polícia. A Constituição é lá pra você?
Não presenciei nada disso, mas e um sentimento geral que ninguém, nem os próprios médicos, de boa fé negarão.
Eu passei, desde a minha entrada no pavilhão, nas mãos de cinco médicos. Os daquela primeira dependência, já falei; os da Seção Pinel, já aludi. Principalmente ao adjunto ou que outro nome tenha. Não falei do chefe do serviço. Era um moço de minha idade, conhecido da rua, mas, conforme meu hábito, já que ele não se deu a conhecer, eu não me dei também. Em rigor, ali, doente indigente, pária social, a mais elementar dignidade fazia eu não o fizesse e, por estar em tal estado, temia-o muito. Sentia, não sei porquê, nesse rapaz, um grande amor à novidade, uma pressa e açodamento, muito pouco científicos, em experimentar o "remédio novo". Percebia-se pelo seu ar abstrato, distraído, que era homem de leituras, de estudos; mas também, por não sei que ar de fisionomia ou de olhar, que era inquieto e sôfrego. Faltavam-lhe a capacidade de meditação demorada, da paciência de examinar durante muito tempo o pró e contra de uma questão; não havia nele a necessidade da reflexão sua, de repensar o pensamento dos outros até admitir como sua a evidência, tida por um outro como tal. Essa sua falta de método, junto a minha condição de desgraçado, davam-me o temor de que ele quisesse experimentar em mim um processo novo de curar alcoolismo em que se empregasse uma operação melindrosa e perigosa. Pela primeira vez, fundamentalmente, eu senti a desgraça e o desgraçado. Tinha perdido toda a proteção social, todo o direito sobre o meu próprio corpo, era assim como um cadáver de anfiteatro de anatomia. Felizmente, fui logo transferido, mas não sem passar dolorosos minutos à espera de ser vítima desse vício mental dos nossos métodos. Pouco lógicos, por isso demasiadamente objetivos; impacientes, por isso aceitando em globo a "autoridade", arriscam-se a de boa fé cometer os erros mais grosseiros e funestos no exercício de sua profissão. Falta-lhes crítica, não só a mais comum, mas também a necessária do grau de certeza da experiência e dos instrumentos em que as refazem.
Transferido de seção, eu fui parar nas mãos de um médico de outro feitio mental, cuja inteligência, solicitada e atraída para outros campos de atividade, dava-lhe mais dúvida, mais necessidade de reexame, no que propusessem os seus colegas, de modo a não se permitir liberdades com a vida dos outros.
Também era muito conhecido meu, desde menino, eu tive grande surpresa em ficar encantado com ele e um imenso prazer em julgá-lo de outro modo.
Tinha-o por dandy, por fútil, algo pedante e, mais do que os outros, que éramos francamente conhecidos e ele podia com certa razão ter motivos de queixa de mim, eu fui à sua presença com certo temor e sem nenhuma segurança da minha atitude. Recebeu-me prazenteiramente, falou-me, examinou-me com cuidado, viu bem os estragos que o álcool podia ter realizado no meu organismo e ficou admirado. Eram mínimos. Foi aí que eu vi bem o mal da "bebida". Ela não me matava, ela não me estragava de vez, não me arruinava. De quando em quando, provocava-me alucinações, eu incomodava os outros, metiam-me em casas de saúde ou no hospício, eu renascia, voltava, e assim levava uma vida insegura, desgostosa, e desgostando os outros, sem poder realizar plenamento o meu destino, que as coisas obscuras queriam dizer não ser o de um simples bêbedo. Era preciso reagir. Tive mesmo desgosto que não tivesse profundamente crença numa vida futura para pedir a minha mulher morta que me iluminasse com seu espírito, que me tirasse daquela degradação, que me desviasse com preocupações quaisquer daquele infame e imundo caminho de bebedeira.
A administração do hospício é feita segundo seções e pavilhões, à testa das quais tem um alienista e mais médicos. Segundo depreendi, as seções principais do hospício propriamente são quatro: Pinel e Calmeil, para homens; e Morel e Esquirol, para mulheres. Além destas, há outras especiais, para epilépticos, para crianças retardadas, rígidas e epilépticas, para tuberculosos, etc., cada qual com um nome de sumidade nacional ou estrangeira. O pavilhão, por excelência, é o de observação, que tem uma organização sui generis, depende do hospício, da polícia e da Faculdade de Medicina, cujo lente de Psiquiatria é o seu diretor, sem nenhuma dependência ou subordinação ao do hospício, dependendo, entretanto, o resto do pessoal subalterno e fornecendo este estabelecimento tudo o mais. Para ser um anfiteatro a seu jeito em uma enfermaria da Santa Casa, só lhe falta a insolência, a multidão de estudantes a querer fazer espírito e outras criançadas com os doentes e defuntos.
Estive nele, como já disse, e, conquanto as minhas queixas sejam mínimas, é, das dependências da Praia Vermelha, a que pior impressão me deixou. Todas as demais, com todos os defeitos, mesmo aparentemente mais defeituosas que aquela, não nos machucam tanto como ela. É possível que eu não tenha razão; e que lá estivesse mais maluco, por isso...
Do pavilhão, como já contei, fui para a Seção Pinel; é a de indigentes, daqueles sem eira nem beira, nem ramo de figueira. Houve nisso um grande erro e muito grave para as finanças governamentais. Sujeitos assim classificados lá existem, que recebem do governo pensões sob vários títulos. Isto tudo é sabido, consta de papéis oficiais. O Estado, recebendo-os como loucos, por mais mínima que fosse, o seu primeiro cuidado devia ser apoderar-se dessa pensão para o seu tratamento. Evitava que eles fossem tratados abaixo de sua condição, aumentava a renda do estabelecimento e dava enchanças para melhorar o tratamento dos verdadeiramente pobres.
Essa narração, porém, não tem por fim indicar medidas de administração; quero contar simplesmente as impressões da minha sociedade com os loucos, as minhas conversas com eles, e o que esse transitório comércio me provocou pensar.
Entrando na Seção Calmeil, lá em cima, como é ela conhecida no hospício, não encontrei logo o respectivo enfermeiro-mor ou inspetor. É um tipo curioso esse de pajeador de loucos. Talvez isso faça há trinta ou mais anos. É um português baixo, todo ele curto, pernas, tronco, pescoço, testa, mas de grandes olhos sequiosos de entender alguma coisa, o único traço grande de sua fisionomia. Tem abundante barba, bigode caído e fala por estos; não há na sua voz modulações, passagens: é um tom único, peremptório, e decisivo: não tem, não há, senhor; não há; pois não, tire. Ele quer ser meigo, doce, mas não pode; há de parecer brutal; entretanto, é um homem paciente, resignado, sofrendo, e eu o vi sofrer, injúrias e até sevícias dos loucos.
Depois que mudei de roupa, para uma minha que meu sobrinho me trouxe de casa, como não soubesse onde era o meu alojamento, eu fiquei no corredor à espera do inspetor Malone, que mo designasse, a fim de descansar um pouco na cama até à hora do jantar.
Nisto, um doente, trajando com certo aplomb uma roupa caseira, tendo até ao peito uma flor vulgar, uma flor do mato, como diz o povo, chegou-se a mim e me perguntou cerimoniosamente:
– O Senhor não é o Senhor Vicente Mascarenhas?
Respondi com a delicadeza requerida e estive a reparar aquele rapaz, que catava maneiras e trazia dentro daquele casarão um livro debaixo do braço.
Reparei melhor naquele rapaz e a sua fisionomia não me pareceu estranha. Eu já a havia visto. Ele era claro, membrudo, barrigudo; tinha uns olhos salientes, muito fora das órbitas, inquietos; papagueava ao falar com os lábios moles e úmidos.
– Eu já li, continuou ele, alguma coisa do senhor... Foi na revista do Samuel... Conhece o Samuel Belo?
– Conheço.
– Pois foi na revista dele. Não se lembra?
– É verdade, escrevi lá.
Notava eu que, à proporção que ele falava, considerava-me com desconfiança, não só a mim, como aos arredores.
– Pois li. Meu irmão – Eduardo Alves – conhece?
– Conheço.
– É muito amigo do Samuel e escreveu lá também. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, sabia?
– Sabia.
– Tenho outro irmão que é também bacharel e o mais velho é médico. O meu futuro cunhado está a se formar em odontologia, eu já tenho quatro preparatórios.
Tive uma grande vontade de rir-me, quando aquele respeitável disse-me com tanto orgulho isso. Nos meses que lá passei, não pude nunca deixar de me admirar do cândido entusiasmo que aquele rapaz tinha pelos títulos chamados acadêmicos. Quando os tinham, os amigos a que se referia, ele não cessava de pô-los à mostra; mas se os não tinha, observava insistentemente: não era formado, mas dava surra em muita gente formada.
O hospício tem uma particular admiração pelos títulos doutorais, patentes, e um culto pelas nobiliarquias familiares.
– Eu, dizia-me esse José Alves, descendo de Frei Caneca, em quinta geração. Meu pai falava quatro línguas e foi convidado pelo barão de Lucena, para representar o Brasil em Londres.
Nunca cansava de repetir estas palavras por qualquer que fosse o motivo que se lhe apresentasse. Além disto, gabava-se extraordinariamente de sua força e de sua bravura.
– Não sou carioca, gente mole. Olhe aqui minha musculatura... Sou pernambucano e descendo de frei Caneca.
A minha conversa, logo na entrada, não pôde ir mais longe. Acercou-se de nós um outro doente. Era um rapaz fraco, delgado, fino de fisionomia, mas insignificante de olhar e modos. Trazia na cabeça um lenço umedecido, que depois me explicou os serviços que lhe prestava.
Alves tinha entrado no terreno das confidências, dos motivos que tinham feito a sua família interná-lo ali. O outro chegou-se justamente nesse ponto preciso, e o meu amável interlocutor virou-se zangado e peremptório para o companheiro:
– Você, Azevedo, parece que não tem educação. Estamos falando em particular e você...
– Eu já sei, Zé Alves, que você é o moço mais educado da seção...
– Sou sim; minha mãe me educou muito bem. Tocava o Guarani a quatro mãos e fez um grande sucesso, num concerto no Teatro Santa Isabel.
O outro observou:
– Você já me tinha dito isto; mas não vim ouvir o que estava dizendo.
– Então, o que é que você veio fazer aqui?
– Vim conhecer o novo colega e pedir fogo
Os dois continuaram a altercar dessa maneira, e eu não via saída alguma para harmonizá-los. Parecia-me que a coisa ia acabar em briga, em pugilato; mas tal não se deu. Repentinamente Alves se foi para um canto, e aquele a quem ele tratara de Azevedo se foi para outro. Fiquei eu só no vão da janela.
Lima Barreto
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa