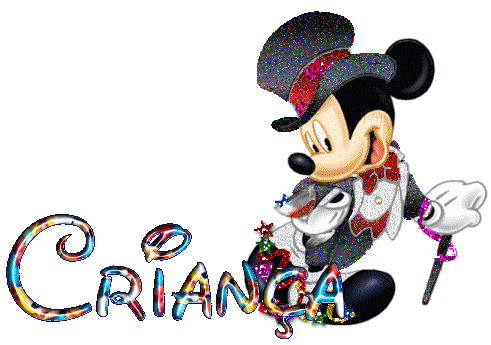Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




AS AVENTURAS DO DR. BOGOLOFF
Capítulo I Fiz-me, então, diretor da Pecuária Nacional
Sai de Odessa com as mais honestas e puras intenções de trabalho. Não era eu natural dessa cidade, mas desde muito ali vivia uma vida medíocre de professor quase sem alunos, vendo alguns rublos com intervalos de longos meses. Nasci em Kazan, onde meu pai tinha uma pequena loja de livros usados, mantendo-se bem mal com os parcos lucros que ela lhe dava.
Aquele contato com os livros desde o meu nascimento, deu-me "fumaças" e a inaptidão do intelectual de origem obscura para o esforço seguido, quando se choca com o meio naturalmente hostil. Não foi assim logo; antes, fiz o meu curso na Faculdade de Línguas Orientais da Universidade da cidade em que nasci, com certo vigor e muito entusiasmo. Aquela sórdida loja de meu pai, porém, foi para mim uma redoma de encantos, que me tirou toda a visão nítida da vida, visão da sua injustiça natural, da sua baixeza imprescindível, do horror da sociedade e da vida.
Anos passei dentro dos meus "indecentes sonhos" de quimeras e justiça e fraternidade, e eles se fizeram tanto mais fortes quanto eu lia a mais não poder, com a fúria de vício, com febre e terríveis anseios. Inutilizei-me.
Acabado o curso, eu não sabia fazer nada e levei alguns anos encostado a meu pais que continuava a ter uma admiração amorosa pelo filho inepto e inapto.
Toda manhã sonhava ir falar com fulano e com beltrano para obter um emprego em que o meu tártaro e o meu persa rendessem dinheiro, mas logo me vinha uma invencível repugnância de pedir, repugnância em que havia delicadeza de incomodá-los e orgulho de fazer-lhes sentir as minhas necessidades.
Era eu filho único, minha mãe havia morrido; vivíamos eu e meu pai sós na loja. Continuei a ler, mas a convicção que me veio de toda a ilustração era inútil para prover a nossa existência, diminuiu-me o ardor pela leitura e levou-me a procurar no café distrações e atordoamentos.
Desde a Universidade que conheci muitos revolucionários, sinceros, falsos e simulados; e, se bem que eu conversasse com eles, nunca tomei compromisso definitivo, nunca aderi, não foi tanto por temor à polícia e às masmorras, mas a certeza da excelência dos ideais revolucionários não me veio imediatamente.
Procurei lê-los, especialmente no príncipe Kroporkine, que era o escritor revolucionário que mais me interessava. O seu rigor lógico e a sua farta documentação davam aos seus livros alguma coisa de sólido e eu os lia.
Aborrecido, como dizia. dei em freqüentar os cafés e lá travei conhecimento com vários rapazes já enfronhados nas teorias anarquistas, tirando-me eles, aos poucos, as dúvidas que ainda pairavam no meu espírito. Não o fizeram sem que eu resistisse muito, mas, afinal, convenceram-me.
Em má hora, fiz tais conhecimentos e mantive semelhantes relações. Houve, por esse tempo, um atentado contra o governador da cidade e fui com muitos outros metido na cadeia. Era completamente estranho ao caso; mas na Rússia como em toda a parte, quando há dessas coisas, a polícia prende todo o mundo, todos "va-nu-pieds", todos os "rotos", porque há de encontrar, entre esses, alguns que percam a cabeça para que a majestade do Estado seja mantida.
Desgostou-se muito meu pai com essa minha prisão. Ele tinha uma inteligência simples e limitada. O lastro das gerações se tinha depositado na sua mentalidade, de forma a encarar a autoridade do Czar como sagrada. Para ele, o autocrata era ainda o "paizinho" e sofreu muito em ter notícia de que seu filho querido não participava dessa opinião e fosse ao extremo de tentar contra a vida de um representante da autoridade transcendente do déspota de S. Petersburgo.
Verificaram com grane desgosto que eu era absolutamente inocente no caso e soltaram-me. Meu pai nada me disse, mas viveu dois anos taciturno, macambúzio, olhando-me de quando de quando, de soslaio, com piedade e censura.
Veio a morrer; vendi-lhe a livraria e sai de Kazan. Saí, porque desde o tal atentado que a polícia não me deixava em paz. A Rússia não é governada pelo Czar, nem pelo Senado, nem, como em outros países, pelos Parlamentos, Ministérios, favoritas ou favoritos; a Rússia é governada pela polícia. O seu poder se estende sobre tudo e sobre todos, não perdendo ela de vista quem uma vez passou-lhe pelas mãos.
Vim para Odessa, onde me fiz professor particular. Não me foi fácil e nunca fiz franca carreira na profissão que adotei. Logo ao chegar, nada obtive e vivi graças aos remanescentes da venda da livraria de meu pai.
Um dia em que, aborrecido da pocilga da minha moradia, sai a esmo pelas ruas de Odessa, encontrei o meu antigo colega Karatoff. Era ele filho de um rico negociante de trigo e sempre se mostrou cético, indiferente, gostando de pândegas, onde empregava o seu ócio e as fazia ser o destino de sua vida.
Alexis Karatoff veio-me e falou-me:
— Querido Bogoloff, que fazes por aqui?
Disse-lhe a que vinha, contei-lhe as minhas desditas e ele tratou mesmo do caso do atentado.
— Não me importo muito com isso, meu caro Bogoloff. Embora burguês, como vocês me chamam, não tenho nenhum ódio de você, nem me proponho a combater as suas idéias. Se a coisa dependesse de mim, já estava feita e logo que vocês consigam destruir a ordem existente, estou pronto em aderir à nova. A verdadeira sabedoria, meu velho, é não agir. Não faço nada; vivo e viverei de qualquer forma. Como você anda necessitado, eu ofereço a minha bolsa, enquanto não me for possível arranjar qualquer coisa para você.
Não aceitei nesse dia o oferecimento, mas vim a precisar dos seus préstimos mais tarde e Alexis serviu-me generosamente.
Um belo dia, ele me disse que um amigo de seu pai, o príncipe Pakine, precisava de um professor para o seu filho e que fosse falar com o titular. O príncipe recebeu-me polidamente e dirigiu-me a palavra em francês. Respondi-lhe na mesma língua e me pareceu que a minha pronúncia não tinha o gosto aristocrático do príncipe. Ele me disse então:
— Bem, o senhor me parece um rapaz preparado e digno de ser professor de meu filho; mas não posso lhe dar resposta já, porquanto tenho que tomar outras informações a seu respeito. Depois de amanhã, procure-me que lhe darei resposta.
Não deixei de procurar o príncipe no dia marcado e não fui recebido polidamente como da outra vez. O homem tinha o sobrecenho carregado e me disse abruptamente:
— Não o posso admitir. O senhor já esteve metido num "complot" revolucionário e não quero que meu filho tenha outras idéias que não aquelas que naturalmente o seu nascimento lhe impõe.
Expliquei-lhe da melhor forma possível, apelei para a minha inocência, mas o príncipe em nada me quis atender.
Tratei de verificar de quem ele obtivera semelhante informação. Do meu amigo Karatoff não era, pois senão desde a primeira visita teria me recusado. Quem fora, pois? Depois de mil conjeturas, acertei logo em julgar que a coisa partira da própria polícia. Era ela, ela por toda a parte, a seguir-me como uma sombra, a tirar-me o pão da boca, a perseguir-me eternamente. Eu estava como aquelas mulheres públicas que, inscritas nos seus registros, não podem mais ser eliminadas. Era uma pena do inferno a que a moderna inquisição do Estado, a que os dominicanos do governo me condenavam. Toda a minha mocidade, todos os meus desejos e as minha aspirações se haviam de quebrar naquela informação que vinha dos prontuários policiais.
Não sabia bem o que fazer e entreguei-me à minha sorte. Vivi uma miserável vida de quatro anos, comendo muito irregularmente e fazendo esforços desesperados para pagar a pocilga em que morava.
O próprio Karatoff esfriou um pouco comigo; não me pareceu ser o "blasé" de antigamente. Havia neles novas ambições e como que senti que a minha companhia o comprometia. Evitei-o e, sem o seu auxílio, muito sofri.
Pouco antes de romper a guerra russo-japonesa, um operário com quem me dava, perguntou-me se eu poderia vir para o Brasil. Não sabia bem onde ficava tal país; sabia-o vagamente na América, mas, na minha imaginação geográfica, o colocava no lugar do México e este no lugar dele.
Não lhe disse logo que sim e ele, para que ,me resolvesse, deu-me a ler umas brochuras escandalosamente apologéticas da desconhecida república da América do Sul. Nelas se dizia que era um país onde não havia frio nem calor; onde tudo nascia com a máxima rapidez; que tinha todos os produtos do globo; era, enfim, o próprio paraíso. Descontei cinqüenta por cento, descontei mais e resolvi-me a emigrar. Um agente que andava catando desgraçados para a sua mercancia, deu-me passagem e eu, com um saco, meio cheio de roupas miseráveis, e alguns francos, embarquei em Odessa e singrei o mar Negro em busca de Nápoles.
Atravessei este velho mar cheio de legendas e história, absorvido nos meus pensamentos. Esse mar que vira Jasão singrá-lo em busca do velo de ouro; esse mar, que era uma das etapas do caminho da seda, via-me agora em caminho inverso, buscar, não o velo, mas do que viver em longínquas paragens.
Que desgraçada viagem! Nada há mais infernal que a terceira classe de um navio! Não há comodidade, não há limpeza; vive-se misturado. Homens e mulheres, as vidas e os seus detritos. A nossa época que tanto se esforça para manter o pudor, que tem leis que punem os atentados a ele, permite essa terceira classe de navios em que as necessidades naturais, as mais baixas e as mais nobres são satisfeitas à vista de todos.
E o navio continuava a sua rota por aquele mar cheio de gente e de história...
Paramos em Constantinopla e eu não quis saltar para ver de relance aquela velha cidade, que já foi a primeira do mundo e cobiça de todos os bárbaros.
Até então não tinha feito conhecimento com nenhum dos meus companheiros de viagem; mas, ao fim de certo tempo, uma das mulheres que viajavam no meu galinheiro, me impressionou e eu travei relações com ela.
Chamava-se Irma e era judia. Nos seus profundos olhos negros havia o mistério de vida e morte do mar. Pareceu-me triste e resignada; e toda vez que lhe perguntava sobre os seus projetos de vida, nas novas terras para que nos destinávamos, ela se esquivava de dizer o que faria. Ia ao encontro de seu marido, respondia; e se fechava num rigoroso mutismo. Tinha ouvido falar muito naquele tráfico de mulheres de que Odessa é um dos mais importantes portos; mas não quis, à primeira vista, supor que aquela moça, tão fresca e rosada, tão inocente e reservada e modos, fosse também para aqueles açougues de carne viva que os campos da Polônia e da Rússia fornecem às duas Américas. Uma vez que aludi a isso, com um pouco de áspera censura na voz, ela medisse cheia de indiferença e fatalidade:
— Se tem de morrer de fome, é melhor experimentar.
Nós entramos no Egeu, no mar das primeiras civilizações, no mar grego, por excelência, cantado por tantas gerações de poetas e sulcado pelos barcos de tantas civilizações; e eu vi, por entre a treva da noite ou sob o dossel de um maravilhoso céu de cobalto, aquelas ilhas donde tem saído das suas sepulturas os espantosos mármores que estão morrendo novamente nos museus frios da Europa Ocidental.
Por um instante, sonhei aquele passado, naqueles dois milênios e pouco de história escrita e vi toda a humanidade, toda ela, por maiores que sejam as suas aquisições presa à mesma ferocidade, com mais ou menos violência.
Não viram aquelas ondas os barcos dos fenícios, dos gregos, dos romanos? Aquele mar não os vira remados por escravos presos e seguros às suas bancadas? Não viram os delfins e tritões daquelas mitológicas vagas ser os mesmos chicoteados. para que não abrandassem na faina? Não viram eles comboios de escravos passarem daqui e dali para a onipotente Roma, para a feroz Bizâncio e para a sensual Istambul? E que continuavam a ser? Os grandes "steamers" ingleses e franceses com foguistas que sofriam mais que os remeiros antigos e navios, como aquele em que eu vinha, trazendo do fundo do Mar Negro mulheres tristes e famintas, para serem escravas em distantes regiões do globo, transformando o seu corpo em fonte de renda, em mercancia, em objetos de comércio? E os homens? Quantos não eram como eu, a que a necessidade, a miséria, a fome mais que a sede de fortuna, levavam a sair da terra de nascimento para ir buscar em outra talvez ainda a fome e quem sabe se não a morte?
A civilização, a não ser que marchasse para o livre entendimento de todos nós, para o apoio mútuo de nossas necessidades, sem desejo de lucro, de riqueza e propriedade — a civilização me pareceu sem sentido.
Nós chegamos a Atenas e eu quis ter diante daquela famosa cidade uma emoção superior; mas não senti coisa alguma, não vi coisa que me impressionasse, a não ser um grande tumulto nas ruas, uma manifestação ou coisa que valha. Onde estava a Atenas de Péricles? de Sólon? de Aristófanes? Não havia nada disso, era uma pequena cidade moderna, comum, tendo em uma das de suas alturas uma ruína, o esqueleto do Partenon, descarnado pelos abutre do tempo e roído pela fome dos arqueólogos.
O tumulto não cessava e tive a curiosidade em saber de que se tratava. Vi num café alguém falando francês e perguntei:
— Trata-se da eleição de Teamapulos, responderam-se.
— Quem é este homem?
— É um orador, é um novo Demóstenes.
Por um instante pensei naquela velha Atenas discursiva e eleitoral, com a sua "Ágora" e o seu "Pnyx". Ela não tinha morrido, ainda era bem ela que queria no governo belos oradores e se agitava por causa deles. De novo indaguei, curioso:
— Mas, quais são as idéias políticas desse Teamapulos?
— Quer a grandeza da pátria.
Que vinha a ser isso? Nada, ou antes muito. Era a mesma Atenas de outros tempos; ainda eram os mesmos homens, ainda era o mesmo espírito que os guiava; e essa verificação como que me deu uma amarga certeza da imobilidade da humanidade. Por toda a parte o mesmo ideal de pátria, por toda a parte a mesma esperança no governo... E, quando naquela noite, atravessamos o canal de Corinto, eu procurei ouvir se da terra me chegava aquele velho brado: o Deus Pan não morreu!
Não me veio aos ouvidos. É que Pan tinha morrido e estava bem morto, debaixo de dois mil anos de macerações, de jejuns, de hipocrisias; e a alegria da natureza, a satisfação natural de viver, o sentimento de excelência da vida tinham sido enterrados com ele, tinham desaparecido da terra; mas a Pátria, esse monstro que tudo devora, continuava vitoriosa nas idéias dos homens, levando-os à morte, à degradação, à miséria, para que sobre a desgraça de milhões, um milhar vivesse regaladamente, fortemente ligados num sindicato macabro.
Quem me levava a terras tão distantes? Quem me tirava toda a minha satisfação de viver? Quem fazia que eu até então não encontrasse na vida nem com que me vestir bem, nem com o que comer, nem amor, nem nada? era a pátria, a famigerada pátria, com as suas idéias decorrentes. Que diabo, afinal, era ela? Um Deus, como outro qualquer. Uma criação subjetiva, já sem utilidade, já sem valor, Se eu nascesse no século XIV, russo, como eu era, Odessa seria minha pátria? Se a Sibéria deixasse de ser russa e passasse a ser mongólica ou tártara, a Rússia morreria? Que diabo de existência era essa que não se mutila, que cresce ou diminui conforme os conquistadores são mais ou menos felizes? Eu, ia ali, naquela miserável terceira classe, sofrendo frio, viajando num curral, por causa de uma deusa tão frágil?
Nós entramos no porto de Nápoles à noite. Havia luar, um grande luar que enchia tudo e dava à famosa baía um toque deliciosos de imaterialidade. Íamos sofrer transbordo e à espera dele passamos a noite toda.
Não lhes falarei de Nápoles, lugar clássico na terra, tão falado e tão descrito que é inútil tentar dizer qualquer coisa de novo sobre ele. Passamos, afinal, para o paquete que nos devia trazer diretamente ao Rio de Janeiro. Se a terceira classe daquele em que vim de Odessa era sórdida, agora aquela do navio em que estava era mais sórdida.
Éramos mais de quinhentos homens, mulheres e crianças, misturados nos beliches, amontoados como galinhas numa capoeira. A comida era uma infâmia; a sentina não se descreve; e nós tínhamos que passar aí bem quinze dias ou mais.
Na maioria eram italianos; mas havia alguns russos, uns poucos de armênios e meia dúzia de gregos.
Não nos entendíamos e vivíamos em grupos conforme as nossas nacionalidades. A judia Irma também viera e logo que deixamos os portos espanhóis e entramos em pleno Atlântico, ela pareceu ganhar um pouco de alegria, uma certa esperança, e, como que seus olhos, debaixo das suaves arcadas das suas sobrancelhas negras, viam na linha fugidia do horizonte a felicidade e a satisfação.
Perguntei-lhe se ia para o Rio de Janeiro ou para Buenos Aires, pois eu já começava a compreender a geografia da América do Sul. Fiz-lhe a pergunta e ela me respondeu muito naturalmente:
— Vou par Buenos Aires. Quando estiver um pouco estragada, irei para o Rio de Janeiro.
O mar tenebroso dos navegantes da Renascença foi atravessado por nós. Dir-se-ia que eles temeram em vão; estava espelhento que nem um lago, e doce e tranqüilo.
Eu que não conhecia quase a história daquelas águas nem das terras que elas banhavam, só me lembrava que aquele era o mar da escravidão moderna, o mar dos negreiros, e que assistira durante três séculos aquele drama de sangue, de opressão e de saque, que foi o aproveitamento das terras da América pelas gentes da Europa.
Pensei comigo que em presença daquelas altas manifestações da natureza só me vinham pensamentos tristes e, longe de ter a esperança natural do emigrante, de riqueza e abastança, ia-me n?alma o mesmo desespero que tinha em Odessa.
A viagem fez-se sem incidentes, a não ser um curioso e eloqüente para a vida da terceira classe dos vapores.
Dois emigrantes italianos casados que dormiam no mesmo beliche, certo dia deixaram-se ficar até bem tarde no convés, bebendo; e, quando desceram, semi embriagados, trocaram de beliches e dormiram com as mulheres trocadas.
Ao amanhecer, dando pelo engano, cada um atribuía alo outro o intuito de traição:
— Patife! Canalha! — dizia um.
O outro retrucava:
— Canalha! Patife!
E toda a população do paquete acudiu para ver tão estranha disputa. Embora os dois homens estivessem ferozes, toda a gente achava no acontecimento motivo de hilaridade e os comentários eram nesse sentido.
Dizia um gaiato:
— Não há motivo para briga. Quando nascerem os pequenos, troquem-nos que a cosa fica certa.
Os dois, porém, não abrandavam e houve a intervenção do pessoal de bordo para que se acalmassem. Fosse porque fosse, fosse porque a situação de ambos não comportasse uma tensa pendência de honra, o certo é que vieram a fazer as pazes e continuaram a viagem como bons amigos como dantes. Que importa à natureza que o pai seja este ou aquele? A questão é que nasça gente para ela preencher os seus obscuros destinos.
Tocamos no Recife, na Bahia, e, afinal, chegamos ao Rio de Janeiro. Aqui, positivamente é que começam as minhas aventuras, mas eu lhes quis fornecer algumas notas anteriores a elas, para que meus leitores me julguem melhor e sintam bem o motivo ou os motivos que me levaram a abandonar os propósitos do trabalho honesto e lançar-me com decisão na vida de expedientes e de planos.
Não era essa a minha tenção, mas o sentimento que se me apossou da injustiça da vida, da fraqueza das bases em que se alicerça a sociedade e o espetáculo da comédia que é a administração do Brasil, levaram-me a procurar viver de modo menos afanoso e com emprego de menos esforço.
Chegamos afinal ao Rio e, após as visitas regulamentares, já começavam a desembarcar os passageiros de todas as classes, quando um empregado de bordo veio chamar-me. Prontamente fui e achei-me em presença de um homem agaloado. Ele me perguntou:
— Como se chama?
O intérprete que estava a seu lado, traduziu para uma língua que ele julgava ser russo, mas que eu sem a entender bem, senti que era lituano. Respondi então em francês, que não entendia. O intérprete — um tipo alto, muito magro, com uma pequena barbicha alourada — zangou-se e gritou em português:
— Mas, você não é russo, como é que não compreende russo?
Respondi, ainda em francês, que não entendia e o intérprete quis ainda empregar o seu lituano. Eu continuava no meu francês e parecíamos querer não sair disso, quando um dos circunstantes que falava francês, prestou-se a auxiliar o policial marítimo que me interrogava. Respondi desse feita que me chamava:
— Gregory Petrovich Bogoloff
O homem da polícia marítima pediu-me que eu escrevesse o nome num papel que me apresentou. Esteve olhando um instante o papel com as letras e, por fim, indagou de repente:
— Qual é a sua profissão?
O intérprete traduziu em francês e eu o atendi:
— Sou professor.
O homem pareceu não se conformar, olhou-me muito e disse à queima-roupa:
— Você não é "cáften"?
Logo percebi o sentido da palavra, fiquei indignado, mas me contive e por minha vez indaguei:
— Por quê?
O homem da polícia explicou muito ingenuamente:
— Estes nomes em "itch", em "off", em "sky", quase todos são de "cáftens". Não falha!
Disse-lhe então que não era, nem nunca tinha sido, mas o homem não acreditou nas minhas palavras, e insistiu:
— Se não é "cáften", é anarquista.
Ainda protestei, ainda desfiz-me em explicações, mas o sujeito teimava na singular idéia:
— Esses nomes em "itch", em "off", em "sky", polacos e russos, quando não são de "cáftens", são de anarquistas.
Eu tive um grande espanto com tão curiosas generalizações da polícia do Brasil e, como me parecia que o homem não me queria deixar desembarcar, apelei para os meus documentos. Trouxe os meus papéis: o passaporte, a carta do agente de imigração, e a minha de bacharel em línguas orientais.
O homem do lituano esteve a olhá-las e o intérprete oficioso também. O policial tomou por sua conta a carta da Universidade de Kazan. Esteve a examiná-la com respeito que merecia um pergaminho, e perguntou:
— Que língua é esta em que está escrita?
Adivinhando-lhe a pergunta, acudi logo:
— Latim.
Foi preciso que o intérprete oficioso dissesse porque ele não entendeu bem o meu — latin — francês e fiquei admirado que um funcionário neolatino não conhecesse nem uma palavra da língua de que se originara a sua.
O policial continuava com as suas desconfianças e ainda objetou:
— É uma língua estrangeira. Devia estar traduzida para a nossa, por um tradutor público juramentado.
Quando soube da sua objeção, quase me desmanchei numa gargalhada.
Onde é que este homem ia encontrar um tradutor público juramentado para o latim? pensei eu.
O homem esteve a olhar-me durante alguns minutos; considerou-me bem a fisionomia, a roupa e ainda fez:
— Então o senhor não é "cáften" nem anarquista?
Tendo conhecimento de sua pergunta pelo intérprete, protestei que não, e creio que ele ficou certo da sinceridade das minhas palavras, pois me deixou desembarcar.
Fui para a Hospedaria dos Imigrantes, e dentro de uma semana estava colocado num núcleo colonial de um Estado do Sul.
Eu tinha os melhores propósitos de trabalho honesto e logo me pus a trabalhar com afinco. Deram-me ferramentas, sementes e um lote de terras duras e compactas.
Comecei a derrubar o mato, construí antes uma palhoça e, aos poucos, ergui uma casa de madeira, feita ao jeito das "isbas" russas.
A colônia era ocupada por famílias russas e polacas e, enquanto os meus trabalhos de instalação não se acabaram, não travei relações com ninguém.
Ao fim de dois meses, tinha já onde dormir sem temer os temporais; mas, as minhas mãos estavam em mísero estado, se bem que o meu corpo tivesse ganho mais saúde e mais força.
Aos administradores da colônia via pouco e evitava mesmo vê-los, porque eram arrogantes e intratáveis; mas travei relações com o intérprete que muito me orientou na vida brasileira.
Este, de fato, falava russo e tinha certa instrução. Nunca me disse os antecedentes da sua vida, mas havia nele certos tiques, certos gestos, que me pareceu ter o seu corpo sofrido trabalhos forçados.
Quando soube que tinha um grau universitário, disse-me logo:
— És tolo, Bogoloff, devias ter-te feito tratar de doutor.
— De que serve isso?
— Aqui, muito! No Brasil, é um título que dá todos os direitos, toda a consideração, mesmo quando se está na prisão. Se te fizesses chamar de doutor, terias um lote melhor, melhores ferramentas e sementes. Louro, doutor e estrangeiro, ias longe!
— Ora bolas! Para que distinções, se eu me quero anular? Se quero ser um simples cultivador?
— Cultivador? Isto é bom em outras terras que se prestam a culturas remuneradoras. As daqui são horrorosas e só dão bem aipim ou mandioca e batata doce. Dentro em breve, estarás desanimado. Vais ver.
Desprezando as amargas profecias do intérprete da colônia, pus-me com decisão a trabalhar a terra. Plantei dois hectares de milho e fiz uma horta em que plantei couves, nabos, repolhos.
Esperei que nascesse e frutificasse o milho. De fato, veio rapidamente, mas as espigas, quando as colhi. estavam meio roídas pelas lagartas; a horta foi um pouco melhor, mas, assim mesmo, a "rosca" e o piolho estragaram-me grande parte da minha obra.
Tentei outras culturas, a do trigo, a da batata inglesa, mas não deram coisa que prestasse e voltei ao milho logo que o tempo se me apareceu propício.
A lagarta, porém, não deixa a sociedade que fizera comigo e tirava do meu trabalho uma porcentagem bem forte. Entretanto, eu tinha que pagar o meu lote e as ferramentas. Com tão magras e pouco remuneradoras culturas, fi-lo com sacrifícios sobre humanos. Quer dizer que eu, no "El-Dorado", continuava a viver da mesma forma atroz que no inferno de Odessa.
Deite-me com todo o afinco à cultura da batata doce, do aipim e da abóbora, e nisso imitei os naturais que não faziam senão pedir à terra esses produtos quase espontâneos e respeitados pelos insetos daninhos.
A colheita foi tal que, pela primeira vez, tive lucro e satisfação. Comecei a criar porcos que engordava com as batatas e os aipins e, embora não encontrasse mercados fáceis para os meus suínos, ganhei algum dinheiro, e, dentro em pouco, tive o meu lote em plena prosperidade.
Ao fim de alguns anos, reparei que a minha cultura e a minha vida de cultivador tinham aos poucos ganho o aspecto dos naturais do país. Não comia mais pão, mas broa de farinha de milho ou aipim cozido; o açúcar com que eu temperava o meu café, era feito de um melaço de cana que eu obtinha numa engenhoca tosca de mina construção. Desanimava de culturas mais importantes e a base da minha vida era a batata doce, o aipim e a carne de porco.
A terra, a sua estrutura e composição, o seu determinismo, enfim, me tinha levado a esse resultado e só obedecendo a ele é que pudera tirar dela alguma coisa.
Quem sabe se a vida no Brasil só será possível facilmente baseando-se no aipim e na batata doce? Não sei bem se isso tem visos de verdade, porque o conheço pouco; mas verifiquei que a minha vida só foi fácil quando se estribou nesses dois produtos quase selvagens.
Mais tarde, quando pude verificar de um golpe a vida política do Brasil, voltou-me essa pergunta, tanto mais que eu notava em toda a sua história econômica uma vida precária de expedientes.
Durante muito tempo, a fortuna do Brasil veio do pau de tinturaria que lhe deu o nome, depois do açúcar, depois do ouro e dos diamantes; aos poucos, por isso ou por aquilo, alguns desses produtos foram perdendo o valor ou, quando não, deixaram de ser encontrados em abundância.
Mais tarde vieram o café e a borracha, produtos ambos, que, por concorrência, quanto ao primeiro, e também, quanto ao segundo, pelo adiantamento nas indústrias químicas, estão à mercê de uma desvalorização repentina.
Nunca a sua vida se baseara num produto indispensável à vida ou às indústrias, no trigo, no boi, na lã ou no carvão. Não era mesmo uma Austrália, não era mesmo uma Argentina, num uma Índia com os seus arrozais. A sua vida fora sempre de expedientes e, sem carvão, e sem esses produtos primários para a existência, tinha que pagá-los caro, não só eles, mas os manufaturados, de forma a não ter reservas de riquezas.
Se nem todos ele ia buscar no estrangeiro, como a carne, tinha, entretanto, que obtê-los no seu solo mais caro que se os comprasse fora.
O boi, que se abate nas cidades do litoral do Brasil, chega-lhe mais caro do seu interior do que se viesse da República Argentina.
Não quero transformar a narração das minhas aventuras em ataque sistemático a essa boa terra do Brasil; e se falo nisso é para lhe mostrar quais os fatos que determinaram o mecanismo psíquico que me levou a abandonar a vida honesta de trabalho.
Ao fim de alguns anos de trabalhar e refletir, eu estava convencido de que, a não ser que a vida do Brasil se baseasse em certas tuberosas e solanáceas, há de ser por força de expedientes e resolvi-me por esse fato a viver também de expedientes.
Corri muitas aventuras, tive que dar muitos planos para viver, e se não conto umas e outras na ordem em que se verificaram, é porque resolvi contá-los à proporção que me fosse lembrando.
Uma das mais interessantes, porém, foi aquela pela qual me fiz Diretor da Pecuária Nacional.
Eu me dava com um mulato conhecido por Lucrécio, o "Barba-de-Bode", uma bela pessoa que exercia o rendoso ofício de "capanga" político.
Não era bem o "espadachim" de César Bórgia, mas os seus patrões não tinham nada de semelhante ao famoso filho do Papa Alexandre VI.
Travei relações com ele em ocasião muito interessante e hei de lhes contar a maneira por que fizemos amizade.
Certo dia vim a encontrar-me com ele e Lucrécio me disse com toda a jovialidade de sua raça:
— Doutor, você precisa sair disso. por que não arranja um emprego?
— Sou estrangeiro, e, demais, não sei fazer nada.
— Qual! Um doutor sabe fazer tudo? Você não sabe pintar?
Eu tinha algumas noções de desenho, muito vagas e elementares, mas como me havia disposto a viver de expedientes, disse-lhe evasivamente:
— Alguma coisa.
— Bem — disse-me Lucrécio. — Vai haver uma reforma nas Belas-Artes e eu vou apresentar você ao senador Sofônias.
Sofônias era nesse tempo o Diretor da política nacional e fiquei admirado que um humilde "capanga" tivesse préstimo para tanto. Ele ainda insistiu:
— Veja lá, hein? Não faça feio.
Dentro em breve, fui apresentado por Lucrécio ao senador. Ele falava com um longínquo sotaque espanhol, e tinha um olhar vidrado de agonizante. Recebeu-me prazenteiro, como todo brasileiro a quem se solicita qualquer coisa!
— Então, menino, você é pintor?
Ele dizia menino com o "e" muito aberto; e "pentor" como se o "i" fosse "e". Respondi-lhe que sim e, para provar-lhe, fiz ali mesmo um "croquis" de seu retrato. Achou-o muito parecido e guardou-o. Ao jeito de lisonja, disse-lhe eu:
— V. Exa. parece-me com Suivaroff.
— Quem? — indagou.
— Suvaroff... Um grande general russo, vencedor dos turcos.
— Ah! Gosto desses homens de energia.
Estivemos conversando sobre a Rússia que ele conhecia tanto como eu o México ou a Nova Zelândia. Aludiu à guerra russo-japonesa:
— Vocês perderam porque não são uma república. Lá há muitos revolucionários. O despotismo é grande lá.
Quis objetar-lhe que o Japão era também um Império e ganhara, e a França, por ser um país teoricamente liberal, tinha uma corrente revolucionária tão forte como a Rússia. Não lhe disse nada e concordei. Não se discute nunca com os protetores. Sobre a minha pretensão, ele me falou da seguinte maneira:
— Menino, você quer um lugar nas Belas-Artes, não é?
— É, senador.
— Lá não é possível. Já fiz muitos pedidos. Você não entende nada de agricultura?
Lembrei-me de meus dias de colono e respondi com toda a firmeza:
— Entendo alguma coisa. Até em pecuária tenho certas idéias e, caso o governo queira, posso experimentá-las.
— Quais são?
Acudiu-me então dizer:
— Posso criar porcos que cheguem ao tamanho de bois e bois da altura de elefantes.
— É maravilhoso! Como você procede?
— É uma questão de alimentação. processos bioquímicos, já experimentados em outras partes, que aperfeiçoei.
— Bem, menino. Vou mandar você ao Xandu e lá você expõe as suas idéias.
Esse Xandu era ministro da Agricultura, para quem o senador Sofônias me deu uma carta eloqüente e persuasiva.
Procurei o ministro que me recebeu com certa frieza, mas, desde que leu a carta do senador, fez-se prazenteiro e amável.
— Ora, Doutor! Desculpe-me! Desculpe-me! Não sabe como ando atarefado. Hoje já assinei 1597 decretos... Sobre tudo! Sobre tudo! Neste país tudo está por fazer! Tudo! Em três meses tenho feito mais que todos os governos deste país. Já assinei 2.725.832 decretos, 78.345 regulamentos... 1.725.384.671 avisos... Um trabalho insano! Fala inglês?
— Não, Excelência.
— Eu falo. Desde que o falei com desembaraço, as minhas faculdades mudaram. Penso em inglês, daí me veio uma salutar reação mental que me interessou todo inteiro. Gosto muito do inglês, com o sotaque americano. Experimente... Brederodes (gritou ele para o secretário) já temos aquele regulamento sobre a "postura" de galinhas?
Respondeu-lhe o secretário e voltou-se para mim, febril:
— O que nos falta é o frio. Ah! A sua Rússia! Eu, se quero ser sempre ativo, tomo todo o dia um banho de frio. Sabe como? Tenho em casa uma câmara frigorífica, 8 graus abaixo de zero, onde me meto todas as manhãs. Precisamos atividade e só o frio pode nos dar. Penso em instalar grandes câmaras frigoríficas nas escolas, para dar atividade aos nossos rapazes. O frio é o elemento essencial às civilizações... Mas, — emendou a alta sumidade — ainda não lhe falei sobre os seus planos. O Sofônias fala-me aqui das suas idéias sobre pecuária. Quais são?
— São simples. Por meio de uma alimentação adequada, consigo porcos do tamanho de bois e bois do tamanho de elefantes.
— Mas, como?
— O meu processo é baseado na bioquímica e já foi experimentado alhures. O grande químico H. G. Wells já escreveu algo a respeito. Não conhece?
— Não.
— H. G. Wells, um grande sábio inglês, de reputação universal.
— De forma que um boi seu, são?
— Quatro.
— Magnífico! E o tempo de crescimento?
— O comum.
— É uma maravilha.
— Ainda consigo a completa extinção dos ossos.
— Completa.
— É um modo de dizer. Reduzo-os ao mínimo, quando chegar à época da matança, eu os transformo em carne.
— Extraordinário! Estás ouvindo Brederodes? gritou, para o secretário.
Animei-me e aduzi com toda a convicção:
— Por meio de fecundação artificial, enxertando germes de um e outra espécie, consigo carneiros que são ao mesmo tempo cabritos e cabritos que são ao mesmo tempo carneiros.
— Singular. O Doutor vai fazer uma revolução nos métodos de criar.
— É a mesma revolução que a química fez na agricultura. Penso nisso há muitos anos, mas não me tem sido possível experimentar por falta de meios.
— Não seja essa a dúvida. Enquanto eu for ministro não lhe faltarão. O governo tem muito prazer em ajudar a todas as tentativas nobre e fecundas para o levantamento das indústrias agrícolas.
— Agradeço muito e creia-me o Doutor que não ficam por aí os meus planos. Tenho outras idéias.
— Outras?
— É verdade. Estudei um método de criar peixe em seco.
— É milagroso!
— A ciência não faz milagres. A coisa é simples. Toda a vida veio do mar e, devido ao resfriamento dos mares e a sua concentração salina, nas épocas geológicas, alguns dos seus habitantes foram obrigados a sair para a terra e nela criaram internamente meios salinos e térmicos iguais àqueles que viviam nos mares, de forma a continuar perfeitamente a vida de suas células. Procedo artificialmente da forma que a cega natureza procedeu, eliminado o mais possível o fator tempo; isto é, provoco o organismo do peixe a criar para sua célula um meio salino e térmico igual àquele em que se desenvolvia a sua vida no mar.
— É engenhoso!
— Perfeitamente científico.
O homem esteve a considerar um tempo perdido, olhou-me muito com o monóculo e depois me disse:
— Não sabe o Doutor, como me causa admiração o arrojo de suas idéias. São originais e engenhosa e o que tisna um pouco essa minha admiração, é que elas não partam de um nacional. Não sei, meu caro Doutor, como é que nós não temos esses arrojos! Vivemos terra à terra, sempre presos à rotina. Pode ir descansado que o governo da República vai aproveitar as suas idéias, que hão de enriquecer a pátria.
Ergueu-se do seu trono e me veio trazendo com o seu passo de reumático até a porta do seu gabinete.
No dia seguinte li nos jornais que tinha sido nomeado Diretor da Pecuária Nacional
Capítulo II Como escapei de "salvar" o Estado dos Carapicus
De acordo com o que deve estar estabelecido no Manual do Perfeito Engrossador , jamais perdi de vista as pessoas poderosas influentes cujo conhecimento ia travando no curso da vida. Se as encontrava na rua, procurava todos os meios para que elas me vissem e lhes prestava a homenagem do meu cumprimento humilde; se faziam anos ou morria-lhes algum parente, mandava-lhes cartões; se faziam rezar missas na intenção da alma de defunto da família, lá estava eu na igreja, inteiramente de preto e cheio de dor; e, se o conhecimento era mais estreito, não deixava, pelo menos, de fazer-lhes uma visita por semana. Esse ritual de salamaleques foi observado por mim com cega obediência de uma imposição da natureza.
Tendo assim me resolvido a proceder, de quando em quando visitava o poderoso Senador Sofônias, no seu palacete, maravilhosamente situado em um dos mais pitorescos arrabaldes da cidade.
Vivo há muitos anos no Brasil e tenho visto nele coisas bem misteriosas e surpreendentes, uma delas é o prestígio do Senador Sofônias; Nunca lhe encontrei qualidade superior, nem de inteligência, nem de sentimento, nem de caráter. Privei com ele e só lhe notei uma elementar astúcia e uma ferocidade descuidada de papua.
Na sua vida não havia nada de brilhante nem de grande. Soube que se fizera notável por ter armado uma pequena força e se batido à frente dela contra os revolucionários. Fora um condotierre, mas um condotierre sul-americano a quem a incultura da terra não podia dar os toques de beleza de um Colleone, de um Francisco Storza, ou mesmo de um Wallestein. A bravura e a cupidez não alternavam nele com o gosto das altas coisas e gestos de homem superior. Era um Araribóia com a paixão do lucro e das posições, um Araribóia do nosso tempo.
Penso que foi esse halo de bravura e ferocidade que lhe deu o grau de ascendência que tinha sobre todos; e ele, dentro de uma grande cidade civilizada, o mantinha astutamente.
Procurava divertimentos ferozes, corridas de touros, brigas de galos; ia às matanças de Santa Cruz e, segundo me disseram, chegou a carnear uma rês num piquenique diante das damas em faniquitos e dos cavalheiros amedrontados. A sua casa tinha armas por todos os cantos, revólveres, pistolas, carabinas, lanças, alfanjes, facões, sabres. Lembrava muito Tartarin, mas havia também nele um pouco de Artigas e outros caudilhos sul americanos.
Todo o país obedecia-lhe e eu me resolvi a ter também uma grande admiração por esse manipanso brasileiro.
Depois que fui nomeado Diretor da pecuária Nacional, nunca deixei de visitá-lo. Naquela semana, fui recebido no seu gabinete de trabalho. Era a primeira vez que entrava naquele santuário, donde o poderoso senador Sofônias Antônio Macedo da Costa ditava ordens ao Brasil todo.
Havia uma mesa rica, cheia de gavetas, com incrustações de marfim e sobre ela, além de objetos próprios para escrever, um galo de bronze, um touro no ato de dar a marrada, também de bronze, e os pesos para papel eram atributos de cavalariça e corridas de cavalos; ferraduras, chicotes, "bonets" de jóquei, etc.
Olhei o armário envidraçado meio cheio de livros. A obra mais importante que lá havia era a História dos Girondinos, de Lamartine, uma tradução portuguesa da casa de David Corrazzi. Além destas, vi O Galo, O Cavalo, O Boi, monografias de baixo valor e preço baixo; muitos relatórios e alguns trabalhos sobre o Direito Público Brasileiro. Não havia trinta volumes na biblioteca daquele homem poderoso que dirigia os destinos de um povo. Não vi nelas senão livros em português.
Encontrei-o concentrado, sentado a uma "voltaire", fumando um cigarro de palha, que parecia sempre apagado, mas que, a menor aspiração, se acendia logo.
— Entra, menino — disse-me com aquele seu falar especial.
Após os cumprimentos e sentar-me, encolhi-me em respeitosa reserva, temendo perturbar a marcha dos pensamentos daquele guia de povos. Certamente, ele imaginava coisas poderosíssimas para a grandeza do Brasil; certamente, pensava em algum problema nacional, atinente à agricultura, à indústria, ou mesmo às relações internacionais do país; certamente, naquele instante, pesavam no seu pensamento as condições de felicidade de toda uma população, e eu me calei para que as minhas parvas palavras não fossem de qualquer forma estragar a maravilhosa solução que ele ia encontrar. Fiquei assim alguns minutos, olhando os dois quadros que havia na sala. Eram duas oleogravuras baratas em molduras caras, representando o "Nascente" e o "Poente" no alto mar.
O Senador tirou uma longa fumaça do seu teimoso cigarro de palha e a sua fisionomia dura perdeu o ar de concentração. Disse-me então:
— Ah! Menino! Esta política!
Repetiu depois de algum tempo, com uma lamentável expressão de desânimo, senão de desgosto, abanando a cabeça.
— Esta política! Esta política!
Não nego que tivesse no momento uma certa admiração pelos homens de Estado. Apesar das minhas secretas idéias anarquistas, com a visão que me veio das suas responsabilidades, das suas dificuldades, da necessidade do emprego, de inteligência e imaginação que necessitavam as medidas que punham em prática, veio-me também por eles um respeito que nunca se tinha aninhado em mim. Sinceramente, disse-lhe por aí:
— O senador tem razão em estar preocupado, mas um homem dos seus recursos não pode desanimar. As questões mais difíceis se resolvem à custa de muito pensar nelas. Se não for hoje, será amanhã ou depois e o povo brasileiro não perde por esperar uns dias.
Sofônias não me respondeu logo. Levantou-se da cadeira e respirou com força como se de há muito a preocupação não lhe deixasse respirar. Era alto e fino de corpo, mas sem flexibilidade, "souplesse", que lhe desse uma elegância natural . Debaixo daquelas roupas muito justas, via-se sempre o homem do campo mal habituado àquelas roupagens e cioso de se mostrar elegante e majestoso. Foi até a uma janela, atirou a ponta do cigarro fora e respondeu-me:
— Ah! Bogoloff! Se fosse só o povo, não me preocupava tanto. Ele está habituado a esperar; mas se trata do Chiquinho e as eleições estão na porta.
Calou-se um pouco e eu não encontrei nada que lhe dizer. Após instantes, continuou, com voz lastimosa:
— Pobre Chiquinho! Tão amigo, tão dedicado, tão leal! Quer ser deputado e eu lhe prometi que o faria; mas não sei por onde! Pelo meu Estado não é possível, o Chico diz que a vaga que vai haver é para o Xisto. O Chico é muito caprichoso e eu não gosto de contrariá-lo. Já falei ao Machado, mas mostrou-me a impossibilidade de servir-me. A vaga do Castrioto, eleito governador, já tinha sido prometida ao Nunes. O Nogueira disse-me que ia ver... Qual, menino! Esta política é uma burla. Sirvo todos e, quando quero que me sirvam, não me atendem.
Eu já estava há muito tempo sem dizer nada e não é conveniente calarmo-nos diante dos poderosos. O silêncio é sempre interpretado mal. Conhecia muito pouco o Chiquinho, ou, antes: o Dr. Francisco Cotiassu, bacharel em Direito, com um emprego qualquer, e mais nada. Assim mesmo e sabendo o motivo da pressa em fazê-lo deputado, adiantei:
— Talvez ele pudesse esperar...
O senador respondeu quase irritado:
— Esperar! Como? Pois se vai casar dentro de quatro meses, como pode esperar? A fortuna dele é insignificante e o emprego que tem rende a ninharia de novecentos mil réis. Preciso fazê-lo deputado quanto antes... Veremos
Estivemos falando um pouco e saímos juntos. Vim até o seu carro e, por toda a parte por onde passávamos, todos olhavam o poderoso Senador Sofônias Antônio Macedo da Costa, o homem encarregado pela soberania da nação de lhe fazer a felicidade e respeitar sua vontade e conquistas liberais.
A arte de governar é de fato uma coisa dificílima e, como eu estava em posição propícia, resolvi estudá-la mais de perto, examinando os seus órgãos e analisando as suas funções.
Desde o dia em que encontrei o Senador Sofônias tão intensamente concentrado no problema de fazer o Chiquinho deputado, tomei o alvitre de procurar ver como funcionava o mecanismo político do Brasil. Ele me pareceu, por aquela espantosa manifestação do Senador, tão maravilhoso e tão sábio, que não esperei mais tempo e pus-me à obra. Pedi uma licença e tracei meu plano. A minha idéia era vê-lo funcionar nos Estados e, depois então, na Capital. A época era maravilhosa, porque se aproximavam as eleições federais para deputado e o terço do Senado e, em alguns Estados, ia ter lugar as eleições de governadores. Como não tinha predileção por este ou aquele, tirei a sorte. Pus dentro da copa do chapéu vinte pedaços de papel com os nomes deles muito bem enrolados e mandei que o meu criado tirasse um dos tais pedaços. Caiu por sorte o Estado dos Caranguejos, para onde parti em breve tempo.
Antes de lhes contar as minhas aventuras pelos Estados, convém que lhes diga o que fiz como Diretor da Pecuária Nacional.
Logo que tomei posse tive uma conferência com o Ministro, no qual lhe mostrei a necessidade de darmos começo às experiências de meu processo.
— Não há dúvida, Doutor, organize o seu plano e exponha o que necessita, que aqui estou para fornecer-lhe os meios. O Doutor compreende que tenho o máximo empenho em levar avante esse empreendimento, não só porque é de um valor científico extraordinário, como também oferece aspectos práticos de alcance transcendente. Sou pela prática, pela atividade útil. Hoje, por exemplo, tenho que assinar 2069 decretos e levo ao Presidente 400 regulamentos, ente os quais um sobre a postura das galinhas que lhe vai agradar muito. Não se dedica à avicultura, Doutor?
— Não; mas os meus processos são gerais, destinam-se a toda espécie da criação de animais. Havemos de experimentá-los, se V. Exa. me fornecer os meios necessários.
— Não há dúvida. Faça o orçamento.
Não me demorei muito em organizá-lo com todo o capricho. Nele, além de muitas coisas, exigia dez auxiliares hábeis, práticos e sabidos na bioquímica, os quais deviam ser contratados na Europa; exigia uma fazenda à minha disposição; pedia um numeroso pessoal subalterno e uma grande verba para material. O orçamento ia a quase oitocentos contos anuais. Apresentei-o ao Ministro que não o examinou logo:
— Não lhe posso dar resposta já, meu caro Doutor. Estou muito atrapalhado... Nesse país está tudo por prover e eu trabalho dia e noite. Nunca teve ministros e um que vem com disposições de trabalho, esgota-se em pouco tempo... Imagine, que não pude tomar hoje o meu banho de frio, tanto estou atrasado!... Um dia em que não o faço, volto a ser o brasileiro mole que os senhores conhecem... Assim mesmo já assinei 382 decretos e organizei 49 regulamentos... Ah! Doutor! Esse Brasil precisa de frio, muito frio!
Despedi — me de homem tão ativo e voltou ao meu gabinete. Durante um mês o Ministro não me deu resposta e o meu trabalho, na Direção da Pecuária Nacional limitava-se tão somente assinar os registros de estábulos e vacarias da cidade.
Houve um dia em que o ministro me chamou e falou-me a respeito da minha Pecuária intensiva:
— Li o seu orçamento e a sua exposição. Muito bons, ambos! O orçamento está um pouco salgado. Por que o senhor quer um laboratório de química tão completo?
— V. Exa. compreende — disse-lhe eu — que os nossos processos se baseiam na bioquímica; daí essa necessidade.
— Não há dúvida, concordo; mas o Doutor podia bem dispensar a fazenda.
— E os meus bois onde viveriam? Não acha V. Exa. necessário pastagens?
— O seu método não se baseia na alimentação artificial, Doutor?
— Baseia-se na superalimentação química.
— Pois então? O seu gado podia até ser criado em uma sala.
— Isto podia dar-se se fosse um ou dois, mas muitos não é possível.
— Não há dúvidas, Doutor! O senhor sabe que o governo está em economias e não pode atendê-lo. Em todo o caso o Estado tem uma casa disponível com um razoável quintal, à rua Conde de Bonfim, e, em pequena escala, o senhor podia experimentar. Vá ver a casa.
Inútil é dizer que eu não tinha nenhum interesse em por em prática as minhas fantásticas idéias. Fui ver a casa e fiz um relatório completamente desfavorável. Nem outro podia ser. A casa era um pardieiro arruinado e o quintal tinha para pastagem algumas touceiras desse capim que se chama "pés de galinhas". O Ministro aconselhou-me por essa ocasião:
— Doutor, não se aborreça. Ninguém mais do que eu conhece as vantagens do seu processo, a barateza que ia trazer para um gênero de primeira necessidade, mas o governo está em apuros. Aconselho que se ocupe do expediente ordinário e espere um pouco.
Levei quase um ano a assinar licenças e registros das vacarias da cidade e tanto isso me aborreceu que, quando vi a dolorosa preocupação política do Senador Sofônias, resolvi atirar-me ao exame da política do Brasil, colhendo dados nos Estados.
Não julguem, pois, que foi um estado d?alma de "pícaro" e vagabundo que me lançou nessa peregrinação. Não sou absolutamente um Guzman d?Alfarrache, um Lazarilho de Tormes, nem um Gil Blas ; tenho ânsia de certeza e de verdade, e quis, provocado pelo espetáculo pungente que o alto Senador Macedo da Costa me deu, examinar bem o que era política, quais as suas vantagens, quais as suas belezas e qual a sua importância.
Já lhes disse como escolhi o Estado dos Caranguejos para começar o meu exame. Parti para ele, a bordo de um vapor do Lóide, em fins do ano. O paquete estava com a partida marcada para 26 de dezembro; mas, como o governo queria número na Câmara e temia que muitos deputados fugissem nele para os Estados, adiou-a para o dia 30.
Embarquei às 10 horas da manhã, pois os anúncios diziam que o navio levantava ferros ao meio dia. Havia congressistas passageiros e, tendo as sessões da Câmara se prolongado até tarde, o vapor só deixou as amarras às nove horas da noite.
Foi, portanto, vendo a cidade iluminada, a se mirar nas águas negras da baia, que atravessei a barra em demanda ao Estado dos Caranguejos.
Navegávamos num mar calmo sob um céu negro em que as estrela faiscavam como diamantes nas trevas.
A linha da costa era de longe em longe marcada por fracas luzernas à altura das águas. As águas estavam negras e o mar tinha de noite menos atração e aparentava mais segurança. A luz manifestava toda a sua fascinação e esclarece os perigos e as suas perfídias.
De quando em quando, o jorro luminoso do farol da Rasa cobria um instante o navio. Não havia quase fosforescência e, na coberta. só ouvia o ritmo das máquinas e o escachoar das hélices.
Havia poucos passageiros na tolda e, entre eles, não se estabelecera conversa. Todos se tinham mergulhado no insondável mistério daquela noite de trevas sobre o oceano imenso. De repente, um grito quebrou aquele augusto silêncio:
— Meu binóculo! Ó comandante! Pare! Pare!
Todos nós acudimos para ver o que era e topamos com um senhor envolto em roupas de dormir que gesticulava possesso e gritava furiosamente:
— Ó comandante! Meu binóculo! Pare! Pare!
A todas as nossas perguntas de explicação, ele se limitava a responder:
— Onde está o comandante?
Vindo o capitão, entre o tom de pedido e o de ordem, ele disse:
— "Seu" comandante, é preciso voltarmos ao Rio. Esqueci-me do meu binóculo.
O comandante fez-lhe ver que isso era impossível e tal coisa iria causar graves prejuízos à companhia e aos passageiros. O homem enfureceu-se e gritou:
— Sabe com quem está falando?
O comandante disse que não sabia, mas que não havia necessidade de sabê-lo, pois se tratava de medida de suas atribuições, sendo ali a sua autoridade em tudo soberana.
— Pois bem — disse o homem — tenho imunidades; sou o senador Carrapatoso.
O comandante retorquiu no mesmo tom de voz:
— Vossa Excelência há de perdoar-me, Sr. Senador, mas não posso voltar.
Nisso apareceu um sujeito alto e espadaúdo, acaboclado, com um bambolear de corpo expressivo e foi dizendo:
— Volte essa joça. Vá! O senador está mandando.
O comandante ainda recalcitrou, tentando convencer o homem que havia muitos binóculos a bordo, mas o senador intimou:
— Quero o meu binóculo. Não quero outro. Ou o senho volta e eu voto a autorização para o empréstimo da companhia, ou não volta e eu e a minha bancada faremos uma guerra tremenda ao projeto.
À vista disso, o comandante que sabia das dificuldades da empresa, tanto assim que não recebia os seus vencimentos havia três meses, virou de bordo e voltamos para o Rio de Janeiro.
Só levantamos de novo o ferro, na madrugada do dia seguinte e penosamente o navio levou-me a Tatui, capital do Estado dos Caranguejos.
Como os senhores sabem, esse Estado não é dos maiores do Brasil, nem mesmo dos médios, mas não é o menor deles.. Tem uma população de pouco mais de meio milhão de habitantes e uma lavoura de cana de açúcar que se arrasta através de dolorosas crises. A não ser a indústria do fabrico do açúcar, quase sempre em crise como a lavoura em que se baseia, não havia no Estado outra indústria de vulto.
A sua capital, a cidade de Tatui, tem uns trinta mil habitantes. Era uma desgraciosa cidade de casas baixas, quase sem calçamento, sem esgotos e com pouca iluminação elétrica.
Nos primeiros dias que lá passei espantou-me a quantidade de mendigos e pobres, além da grande quantidade de gente que exerce ofícios miseráveis, como baleiros, carregadores, vendedores de água, (não havia água encanada) e outros.
Possuía uma linha de bondes preguiçosos, servida por um único veículo, que só parte dos pontos quando estava pela metade de passageiros.
Quando nos afastávamos da zona urbana, o espetáculo era mais miserável ainda. Só há palhoças de sapé, cercadas de pobres roças desanimadas; pelos caminhos encontravam-se mulheres públicas meio rotas, carregando as esteiras em que realizavam os seus tristes amores.
Construía-se um teatro majestoso, num estilo compósito e abracadabrante.
Não dava um passo sem que os moleques me fizessem oferecimento de levar-me a lugares equívocos.
Esse Estado já estava "salvo". Sabem os senhores o que isso quer dizer. Chama-se, "salvar um Estado", entregar a sua governança a um militar. Para isso contribuem duas coisas: a fome de grandes e pequenas posições dos civis e a vaidade demasiada de alguns militares. O Dr. Fulano e o chefe político Fuão não tinham sido até ali satisfeitos nas suas pretensões pelo governador. Que fazer? Dizem-se em oposição, arranjam meia dúzia de asseclas, publicam um jornaleco e apresentam candidatos à sucessão governamental o general Z. ou o coronel B.
O general Z. ou o coronel B., como coronéis ou generais que são, muito convencidos das suas virtudes excepcionais, aceitam logo a coisa e tecem os pauzinhos de forma a encher o Estado com batalhões, cujos oficiais lhes são dedicados inteiramente.
Ao chegar a ocasião das eleições, oprimem os adversários, enchem-se de votos falsos e verdadeiros e, depois, obrigam os respectivos Congressos a reconhecê-los.
Eles mesmos se intitulam Césares e Marcos Aurélios, jactam-se de puros, sapientes e imaculados.
Em geral são tipos inteiramente desconhecidos, não só do país como dos Estados que vão "salvar", mas não trepidam em tomar os mais altissonantes pseudônimos e em dizer-se escolhidos do povo.
Um é César porque é um general de talentos nunca postos à prova e um péssimo escritor; o outro é Marco Aurélio porque nunca furtou dez tostões.
Este deixa de lado aquela sede de perfeição do imperador romano, a sua profunda piedade e a sua ânsia de bondade e fraternidade; aquele, abandona os talentos do grande Júlio e cobre a sua modéstia notória com o nome do autor dos Comentários .
Não dizem quais sejam as suas idéias de governo, o que pretendem fazer, quais as medidas que vão empregar. Mandam os batalhões, chamam os adversários de gatunos, proclamam-se honestos e fazem-se presidentes, governadores, custe o que custar.
De posse do governo, esbordoam, empastelam jornais, degolam, matam, procedem, enfim, mais como Domiciano ou Cômodo do que como Marco Aurélio ou mesmo Júlio César.
Esta palhaçada já tinha tido lugar no Estado dos Caranguejos e estava à sua frente o General Contreiras.
Foi engraçado como apresentaram a candidatura desse general, então coronel. Era um oficial obscuro, que tinha subido posto a posto pelos processos comuns. Um belo dia, o repórter de um jornal levantou a sua candidatura à presidência, porque era filho do venerando Frutuoso. Ninguém mais se lembrava desse herói, que morrera havia dez anos, e, nas ruas, não era raro ouvir-se a seguinte conversa:
— Quem é esse Contreiras?
— É filho do venerando Frutuoso.
— Quem foi esse Frutuoso?
— Não me lembro bem
Tudo marchava nessa conformidade e era com tão fortes títulos que se conflagravam os Estados, causando mortes e violências de toda ordem sobre as propriedades e as pessoas.
O Estado de Caranguejos já estava portanto "salvo", pois tinha à frente do seu governo o general Contreiras
Contreiras, logo que tomou conta do governo, mandou empastelar o jornal da oposição e, em seguida, fez um inquérito em que o seu delegado procurava demonstrar que haviam sido os proprietários do jornal os autores do empastelamento.
Para isso, além do seu cinismo em afirmar, o tal delegado empregou a coação e a ameaça sobre os depoentes, pobres operários que eram obrigados a dizer tudo o que convinha à autoridade.
Não contente com isso, dividiu o Estado em vários distritos agrícolas, à frente dos quais pôs um inspetor e meia dúzia de auxiliares; todos capangas seus, que se encarregavam de esbordoar aqueles que demonstrassem de qualquer modo não concordarem com "o salvador".
As reclamações choviam e os delegados policiais faziam inquéritos onde diziam que não havia nos casos coisa alguma de política, mas simples rixas por questões de mulheres ou de família.
Reparei que havia nesses ditadores todos um terror extremo diante da lei que violavam. Não tinham coragem de fazê-lo francamente, claramente, ousadamente; mascaravam as suas violências, os seus assassinatos, com subterfúgios legais e outros, falando sempre em liberdade, em ordem, em paz e prosperidade.
Tive vontade de visitar o governador e pedir-lhe uma audiência, mesmo porque, se não o fizesse, corria perigo a minha segurança.
Já começavam a desconfiar "daquele estrangeiro". isto é, de mim, mas o estrangeiro não significava estranho ao país, mas ao Estado.
Vi-me muitas vezes seguido por tipos suspeitos, e à vista disso, declarei a minha qualidade de oficial e pedi uma audiência ao governador. Ele ma deu sem demora e pude conversar com ele.
Não se imagina homem mais comum, de feições e inteligência. Não lhe pode sacar nem uma idéia sobre a administração e o governo. Ele só me dizia:
— Este Estado tem sido muito roubado. Agora a coisa vai entrar nos eixos. Sou honesto e não consinto que ninguém roube à minha sombra.
Quando lhe falei sobre a miséria da população, na lamentável impressão que isso fazia a quem vinha de fora, ele me disse:
— É... É... São uns madraços. Estou tratando de fundar uma colônia correcional.
Aquele homem não via que era o próprio governo quem criava aquela situação; que era, além de outras coisas, a quantidade formidável de impostos cobrados pelos governos municipal, estadual e federal?
Perguntou-me então pela política central, se o Sofônias era muito poderoso, se faziam muita oposição a ele, governador. Disse-lhe que os jornais do Rio atacavam-no muito e ele observou:
— Sei... Sei.... A culpa é do Simplício (o presidente) que não os faz calar...
Tomou por aí uma expressão feroz que trouxe à lembrança do russo Tamerlão e Gengis Khan.
Despedi-me governador, e, no dia seguinte, para completar as minhas notas, fui assistir a uma sessão da Câmara dos Representantes.
A Constituição do Estado, moldada na Federal, estabelecia a independência e a harmonia dos poderes estaduais, que eram o judiciário, o executivo e o legislativo.
O Estado não tinha Senado e o órgão do seu poder legislativo era unicamente a Câmara dos Representantes, que funcionava numa ala do palácio do governador.
A sala não era apropriada ao seu destino, mas era ampla e bem iluminada; e, como já fosse conhecida a minha qualidade, deram-me uma espécie de camarote, ao nível do recinto, a que chamavam de tribuna.
Cheguei cedo e pode ver a entrada dos deputados. Havia alguns jovens bacharéis e tenentes, muito pimpantes nos seus trajes à última moda, e havia também aqueles curiosos tipos de coronéis de roça, que vinham às sessões em terno de brim, com botas de montar e a açoiteira de couro cru, pendendo na mão esquerda, presa por uma corrente ao respectivo pulso.
Eles chegavam e se espalhavam pelas bancadas, conversando e fumando. Junto a mim, havia dois, uma dos quais lia, à meia voz, um artigo de jornal para o outro ouvir.
Não passavam de vinte e tantos e eu perguntei a alguém se era aquele o número exato de representantes. Foi-me dito que não, que eram quarenta e cinco, mas que só pouco mais da metade freqüentavam as sessões. Os outros, acrescentou o meu informante, ficavam nas suas fazendas e mandam unicamente receber o subsídio por seus procuradores bastantes.
A sessão custou a ter começo. Afinal o presidente e secretários tomaram seus lugares e a chamada foi feita.
Notei que, quase em frente a mim e ao lado da mesa, um pouco distante, havia uma ampla cadeira de balanço, cujo destino ali era difícil atinar.
Lida a ordem do dia, foi anunciado o expediente, e um deputado gritou do fundo da sala:
— Peço a palavra.
No mesmo instante, a cadeira de balanço foi ocupada. Imaginem por quem? Pelo presidente do Estado, o General Contreiras. Estava muito simplesmente vestido, com uniforme de cor cáqui, sem colarinho, em chinelas de marroquim e até o dólmã estava desabotoado. Acudindo o pedido do deputado, o presidente da Câmara falou:
— Tem a palavra o deputado Salvador da Costa.
O deputado não abandonou a bancada e começou com voz cantante:
— Senhor presidente — A cidade de Cubangoisolada do resto do atal, são absolutamente desanimadoras. A inspetoria de obras no seu habitual relaxamento...
Por aí, o orador foi interrompido por um vibrante grito do governador:
— Senta-te, Salvador! Fala agora o João.
O deputado Salvador, abandonando o fio do seu discurso, desculpou-se:
— Há de perdoar-me, Senhor General Doutor Governador. Trato pura e simplesmente de uma questão administrativa. Não há política.
O governador não lhe deu ouvidos e continuou a gritar lá da cadeira de balanço:
— Senta-te, Salvador! Não prestas pra nada! Fala agora o João!
Salvador ainda esteve uns minutos em pé sem saber o que fazer, olhando aqui e ali; porém, um berro mais enérgico do presidente fê-lo cair sentado sobre a cadeira, como se tivesse sido derrubado por um raio.
Assisti todo o resto da sessão. Não houve mais a intervenção enérgica do general doutor presidente. Por fim, um deputado apresentou uma moção de congratulação com o coronel Firmino, chefe político em Caxoxó, por fazer anos naquele dia.
Inteirado do funcionamento dos dois poderes do Estado, tendo a respeito tão excelentes notas, quis observar em outra unidade política da Federação a marcha de sua administração. Embarquei para o Estado dos Carapicus, que fica muito ao sul do dos Caranguejos.
Pouco tinha a mais que ver, pois o que me fora dado assistir nos domínios do General Contreiras me pareceu ser o resumo da política estadual; contudo, dispus-me a ver como se passavam as coisas em outro Estado, porquanto podia tomar nota de um ou outro detalhe expressivo.
Não tinha muita esperança nisso, à vista da parecença estreita que têm as partes do Brasil entre si.
Todas as cidades se parecem, tem a mesma fisionomia, possuem casas edificadas da mesma forma e até as ruas têm os mesmo nomes e os apelidos das lojas de comércio são os mesmos.
Um país tão vasto, que se desenvolveu através de climas e regiões tão diferentes, é, entretanto, nos seus aspectos sociais, monótono e uno.
Tinha verificado isso na minha viagem para o Estado dos Caranguejos e certifiquei-me da verdade dessa verificação quando voltei.
Imaginei que a coisa também se desse nos aspectos políticos, mas não quis ficar em suposição e tratei de certificar-me da verdade, vendo os fatos que eram objeto dos meus estudos.
Cheguei a capital do Estado dos Carapicus num domingo à tarde. No logradouro de desembarque, tocava uma fanhosa banda de música e as moças do lugar, muito enfunadas nos seus vestidos domingueiros, passeavam pelo largo com uma satisfação de prisioneiras em temporária liberdade.
Vista Alegre, essa capital, é uma pequena cidade de vinte mil habitantes, muito montuosa, sem monumentos, nem mesmo as velhas igrejas de estilo jesuítico que se encontram pelo Brasil todo. O Estado dos Carapicus é dos mais pobres do Brasil; não tem uma produção característica e importante. Vive de magras culturas estritamente indígenas e possui riquezas florestais de difícil aproveitamento.
Saltei na sua capital com o nome trocado e isso havia feito após as maçadas que o meu nome estrangeiro e a minha qualidade de diretor da Pecuária me haviam dado em Tatui.
Quando lá souberam que eu tinha tão elevado cargo na administração nacional, não me deixaram fazer consultas, a respeito das moléstias de bois e cavalos.
Vi-me sempre em sérias atrapalhações para resolvê-las e, quase sempre, receitei e aconselhei drogas que mais matavam os animais que a própria moléstia.
Tendo sido tão terrível exemplo do quanto custa ser-se diretor da Pecuária Nacional, troquei de nome, adotando um bem português, e fiz chamar-me de Dr. Manoel da Silva.
Eu falava já muito bem português, sem o mais leve acento estrangeiro, de forma a poder iludir perfeitamente os nacionais sob o meu disfarce de Silva. Abandonado os meus nomes russos, conservei, porém, o Doutor, título indispensável para se ter no Brasil a consideração que os hoteleiros, os copeiros, os catraieiros etc., dispensam a qualquer cavalheiro em todas as partes do mundo, com ou sem títulos.
Saltando em Vista Alegre, dirigi-me logo a um hotel, Hotel Barbosa, onde pedi um quarto. Reparei que, quando dava o meu nome português ao hoteleiro, o homem fez uma careta e olhou-me com espanto. Tomei banho, mudei de roupa e fui jantar. Logo que me pus à mesa, o meu hospedeiro veio sentar-se ao meu lado e falou-me cheio de atenções e delicadezas.
—Então, Doutor, resolveu-se a vir, não foi?
Não atinava com o motivo dessa pergunta, porquanto, por mais que me lembrasse das minhas tenções, não achava nas minhas recordações hesitação em vir ou deixar de vir ao Estado dos Carapicus; entretanto, por complacência, respondi:
— Pensei muito e resolvi-me.
O Sr. Barbosa fez-se mais blandicioso e continuou:
— Já temos aqui dois batalhões.
— É útil — disse-lhe eu — sempre traz lucros para o comércio.
— É, mas demoram pouco. Ainda se ficassem....
— Quem sabe lá? Aqui é lugar saudável e talvez o governo os deixe ficar.
— Nós estimaríamos bem , porque assim ficávamos mais garantidos, a não ser que...
Por aí, como que teve medo de adiantar-se muito, calou-se, mas em breve recomeçou:
— V. Exa. sabe que não sou político, mas há certas coisas que a gente não pode ver sem protestar. O governador parece que perdeu a cabeça e está dando por paus e pedras... Não sou político, mas há certas coisas que fazem a gente ficar indignado.
Não respondi ao hoteleiro e ele não sei como interpretou o meu mutismo. Calou-se e se foi. Dormi maravilhosamente aquela noite e bem cedo saí pela cidade.
Uma cidade, como aquela, sem fábricas de qualquer espécie, não tem, ao amanhecer, movimento de espécie algum. Encontram-se, a espaços, vendedores de pão, uma carroça ou outra e mais nada. Após o passeio, voltei a almoçar e reparei que os meus companheiros d hotel olhavam-me de uma forma indecentemente insistente. Que teria eu? Almocei à pressa e saí logo à passeio.
Não tinha a cidade muito onde ir; não possuía arrabaldes nem sítios pitorescos, mas descobri uma fábrica de cerveja, num dos seus extremos, com um botequim anexo, onde me deixei ficar por algumas horas.
Voltei ao centro, ao entardecer, e procurei o lugar de mais movimento. Procurei um café e entrei para tomar cerveja. Olhando ao derredor, verifiquei que continuavam a olhar-me da mesma forma que no hotel. Que teria eu? Levantei-me resolvido a ir-me no dia seguinte. Quem sabe se não me tomavam como espião, como político adversário da situação e não premeditavam alguma violência contra mim? A situação nos Estados do Brasil era tão confusa que tudo era possível. Levantei-me amedrontado e, cheio de temor, atravessei por entre as mesas. Atravessando-as, ouvi que partiam dos grupos nela sentados frases destacadas como estas:
— É ele.
— Não é.
— É. Tem o mesmo nome e é louro.
Não tive logo certeza que se tratasse de minha pessoa, mas em caminho do hotel, nas ruas por onde passei, continuei a ouvir:
— É ele.
— Não é.
— É. É louro.
Não imaginam o pavor que fiquei possuído e foi apressado que entrei no hotel. Que diabo queriam aqueles homens comigo? Fui ao quarto, fiz a minha "toilette" de jantar e abanquei-me à sala respectiva.
Dei começo à refeição e, ainda estava no meio dela, quando um capitão, inteiramente fardado, veio ao pé de mim e me disse:
— É com o Dr. Manoel da Silva que tenho a honra de falar?
— Um seu criado — disse-lhe eu.
— Desejava ter uma conferência reservada com o senhor.
— Para já?
— Não. Pode jantar e depois, então, falaremos.
Fiz o possível para conservar o meu sangue frio, mas não consegui comer mais nada e dei-me por satisfeito antes de acabar as iguarias do sr. Barbosa. Dirigi-me logo para o quarto e o capitão seguiu-me. Lá chegando, ele me foi dizendo á queima roupa:
— Está tudo pronto! Não há tempo a perder.
— Como? Que é?
— Não tenha medo. A força garante.
— Garante o quê?
— A sua posse.
— Que posse?
— No lugar do governador. Não é o senhor o Doutor Manoel da Silva?
Não tive outro remédio senão dizer quem era e o capitão insistiu:
— Então, prepare-se. Tenho ordem do Bonifácio. Aqui está o telegrama. Leia!
Passou-me o telegrama e eu li o seguinte: "Dê posse ao Manoel da Silva, custe o que custar. Bonifácio".
De há muito não lia jornais e não sabia que havia para o Estado de Carapicus um candidato, com o nome que eu usava, à sua governança. Esse candidato era inteiramente desconhecido no Estado e fora apresentado porque mantinha estreita amizade com esse tal Bonifácio, espécie de mordomo do Presidente da República, sobre cujo ânimo tinha esse serviçal uma dominação sem limites.
Depois de muitos disparates, consegui saber tudo isso e protestei ao capitão que não era o tal Manoel da Silva que ele pensava; o homem, porém, não acreditou e julgando-me cheio de medo, intimou-me:
— É o senhor, por força. Disseram-me que era louro; o senhor é louro, é por força ele. Temos "trabalhado" muito e ou o senhor aceita e nós o pomos no palácio, ou foge às suas responsabilidades e eu o mato.
Estava em séria colisão e tinha que escolher entre essas duas pasmosas coisas: ser governador do Estado de Carapicus ou morrer.
Levei toda a noite a pensar, a imaginar um meio de sair-me daquela atrapalhação. Quis fugir, mas certamente, desconhecendo inteiramente a cidade, seria pior, pois logo cairia nas mãos de um ou de outro partido, e o meu fim seria o mesmo.
De manhã, muito cedo, chegou-me o tal capitão que me mostrou um outro telegrama: "Emposse o homem, custe o que custar. Bonifácio."
— Então — perguntou-me ele — aceita ou não?
— Aceito.
— Fez bem, Doutor, porque senão o senhor não voltaria mais ao Rio. Prepare-se para receber uma manifestação.
Não saí do hotel naquele dia e, à tardinha, apareceu-me na rua uma charanga militar, seguida de algumas centenas de pessoas, parando na frente do estabelecimento do Sr. Barbosa.
— Viva o Dr. Manoel da Silva! Viva! — gritavam.
Estava cheio de medo, mas o hoteleiro e mais o tal capitão empurravam-me para a janela, de onde comecei a ouvir os oradores.
Dizia um, na peroração:
" Dr. Manoel da Silva, salvai-nos, libertai-nos desse monstro que nos devora, que mata os nossos filhos, que nos furta, que nos esmaga! Sede o nosso Moisés! Levai-nos à terra da Promissão, à Canaã sonhada!"
Os outros repetiam a mesma coisa e eu estava diante daquilo tudo completamente besta. Não haveria um remédio, um meio de esclarecer aqueles tolos todos de que eu não tinha tais predicados. Os oradores acabaram e vivas foram erguidos.
— Viva o Dr. Manoel da Silva! Viva o nosso salvador! Viva!
Quando acabaram, o capitão intimou-me ferozmente:
— Fale!
Não tive outro remédio senão gaguejar qualquer coisa, que foi ouvida no maior silêncio. Não saí mais do hotel e, à noite, ouvi o espocar de fuzis, tropel na rua, uma bulha de grosso motim.
No dia seguinte, soube que haviam empastelado o jornal da jornal do governo, destroçado a polícia, atacado o palácio e o governador renunciara.
O capitão não tardou a procurar-me prazenteiro:
— O patife do Bastos saiu. Agora o governo está com o Guedes que é nosso. A sua posse é depois de amanhã.
Recebia aquelas notícias cheio de terror, de medo que semelhante aventura não resultasse na minha morte. Se soubessem que eu não era o tal "salvador", certamente matavam-me.
Aquilo me parecia um mero sonho, um pesadelo ou senão um capítulo de um romance jocoso. Onde iria parar, meu Deus?
O hoteleiro continuava com as suas zombarias e, durante a véspera da posse, não tive mãos a medir para atender às visitas. Dizia-me um: fui eu quem lançou a sua candidatura; dizia-me outro: fui eu quem o defendeu nos jornais. Os próprios situacionistas me procuravam, propunham acordos, "modus vivendi". Não lhes respondia coisa com coisa e partiam fazendo uma triste idéia do seu "salvador"; entretanto continuavam a buzinar nos seus jornais que eu era um homem de raro talento, extraordinário.
Chegou o dia da posse e, quase arrastado pelo tal capitão, levaram-me ao Congresso e me dispus a acabar com a farsa. Um paquete entrava na baía despejando pelas chaminés grossas baforadas de fumaça.
Reuniram-se os congressistas e, quando eu ia prestar o compromisso, entra pela sala um sujeito pequeno e louro, que gritava:
— Não é este o Dr. Manoel da Silva; sou eu.
Os congressistas ficaram petrificados, ninguém sabia o que dizer e o tal sujeito continuou a gritar.
— Não é este, sou eu.
Na sala, logo se formaram dois partidos: um a meu favor, outro a favor do recém chegado.
Houve uma barafunda geral, gritos, palavrões, começo de discursos.
Daqui se gritou:
— É ele! É!
Dali se berrou:
— Não é! Sai usurpador!
No meio daquela barulhada, daquele berreiro, fiquei mais morto do que vivo. A bulha continuou e cada vez mais feroz. Por fim veio a calma e pude dizer:
— Deve ser esse senhor, porque eu não sou.
Houve propostas de morte, mas a maioria me protegeu e eu pude sair. E foi assim que escapei de "salvar" o Estado de Carapicus
Capítulo III Dei alguns planos e pintei a batalha de Salamina
O que se passou comigo no Estado dos Carapicus pode parecer impossível a quem não estiver lembrado da situação de desmando por que passava àquela época a política brasileira. Se até então um resto de pudor faziam com que se disfarçassem as violências e as ilegalidades, apoiados pela força federal, ao serviço de ambiciosos saídos de seu seio ou fortemente protegidos por pessoas influentes nela, os sindicatos políticos faziam o que entendiam e não guardavam conveniências.
Havia exigências terríveis nas leis para as eleições de governadores, como fossem: um dilatado prazo de residência no Estado, não exercer algum tempo antes das eleições cargos de mando e outros; mas, quando se tratava de ajuntar Fulano ou Beltrano para usurparem as governanças regionais, não atendiam a isso e procuravam pessoas que dispusessem da dedicação do Presidente ou de homens que, por sua vez, dominassem o ânimo presidencial.
Entre estas últimas havia um tal Bonifácio, que fora seu copeiro e deixara de sê-lo para se transformar numa espécie de "maitre du palais". Não se sabia bem de onde lhe vinha esse ascendente, mas o certo é que ele fazia e desfazia na República. As nomeações, as mais baixas e as mais altas, eram em geral feitas por sua inspiração; exigia demissões e indicava presidentes de Estado.
Esse Dr. Manoel da Silva, de quem, em tão má hora, me fiz homônimo, era seu médico, e, muito agradecido aos seus préstimos profissionais, Bonifácio, sabendo-o natural dos Carapicus, fê-lo de conchavo com certos ambiciosos de lá, candidatos à presidência de tão obscuro Estado.
Ninguém o conhecia nos Carapicus, pois lá nascera quando seu pai estivera em comissão na respectiva Alfândega; viera de lá com um ou dois anos e desenvolvera a sua vida na Capital, rompendo o caminho comum aos rapazes de juízo e prudentes, isto é, formara-se em Medicina, arranjara um emprego de médico na Marinha e, assim, vivia ignorado, quando Bonifácio lhe acenou com a alta situação de presidente do Estado.
O fato de tomarem-me por ele não proveio absolutamente de qualquer semelhança física. Não lhe era sósia, havia, ao contrário, entre nós dois, muitas dessemelhanças. Era eu alto e ele baixo; era eu pálido, "mate", e ele, corado; eu tinha o rosto comprido e ele, redondo; eu tinha o nariz alto e aquilino e ele, um largo e achatado.
Não fora pois a semelhança, mas unicamente o nome e o fato de sermos ambos louros, coisas que, ajudadas pelo seu total desconhecimento no Estado, convenceram os seus partidários de que eu era o seu "salvador".
Viram os senhores até que ponto os acontecimentos me levaram; mas não lhes pude dizer as conseqüências que tais sucessos determinaram. No Estado, as coisas se explicaram e todos ficaram satisfeitos; mas, conhecida a história no Rio de Janeiro, não tardaram os jornais oposicionistas, que eram quase todos, a explorá-la, a troçá-la em todos os tons e alguns mais ferozes frisaram bem a minha condição de funcionário público e os governistas acusaram-me de ter-me vendido aos oposicionistas para, de tal maneira, desmoralizar o benemérito governo do general Simplício, "o único que até agora tinha sido verdadeiramente republicano".
Quem mais zangado ficou comigo foi o tal Bonifácio, o poderoso heril do presidente fainéaut . Era um tipo de sujeito comum, mas azedado pelos baixos ofícios que tinha exercido e desmedidamente envaidecido pela posição em que a sorte o colocara. Fora sargento de batalhão e trazia para a alta administração a concepção de governo de uma companhia. Não tinha podido ainda formar-lhe na cauda; não se me oferecera ocasião, de modo que fui sacrificado e ninguém se animou a defender-me diante dele.
Ao chegar ao Rio, tive notícia de demissão, a bem de tudo. Não deixava de ser um acontecimento bem importante na minha vida. Ganhava quase dois contos de réis e nada fazia, a não ser despachar licenças para as vacarias e estábulos da cidade.
Tendo vivido sempre na miséria e, possuindo pela minha educação gosto pelas altas coisas, logo que vi dinheiro, comecei a gastá-lo. Comprei alfaias, roupas, móveis e livros.
A minha casa, nas Laranjeiras, era um primor e, tendo bem forte os sentimento da miséria e das necessidades, tive a bolsa sempre aberta aos grandes e pequenos pedidos de dinheiro que me faziam.
Desse jeito, ao me despedirem, eu me encontrava completamente desprevenido. Não desesperei e procurei o Senador Sofônias para ver se ele inutilizava a minha exoneração.
Recebeu-me o Senador com a cara fechada e uma solenidade grotesca de grande sacerdote de uma extravagância religiosa da África ou da Ásia. Foi-me dizendo logo:
— Menino, não gosto que os meus amigos concorram para a desmoralização do regime.
Apanhei o ar mais humilde que me era dado ter, e disse ao sumo pontífice do regime:
— V. Exa. não sabe como as coisas se passaram. Não tenho absolutamente culpa. O "homem" não era lá conhecido. Quis livrar-me das cacetadas das consultas sobre moléstias de bois, cavalos, cabras e até de cachorros e gatos e dei aquele nome no hotel, sem saber que, por ele, acudia o eminente político que V. Exa. apoia. Não o conhecendo, tomaram-me por ele e, sob ameaças, fizeram-me aceitar o papel a contragosto... Foi assim.
Dei-lhe mais detalhes, narrei-lhe toda a verdade e ainda acrescentei:
— Admira-me que V. Exa. tenha patrocinado a candidatura de pessoa que ninguém conhece no Estado.
— Eu! Isto está tudo de patas para o ar...
Depois, como se quisesse apagar o efeito daquele desabafo, ajuntou:
— Não patrocino coisa alguma. Disseram-me que era o povo, o Bonifácio o quer e eu também o quero. Menino, no nosso regime, não há patrocínio; há escolha da soberania popular. Este é que é o seu "status quo".
Não deixei e admirar as conseqüências de tal teoria, dando em resultado o advento de um desconhecido ao tal povo e também aquele emprego engraçado de "status quo", mas evitei fazer qualquer comentário e falei-lhe na minha reintegração:
— Compreende V. Exa. que nem tive tempo de dar começo ás minhas experiências. Sinto até remorsos de ter recebido do governo tanto dinheiro e nada ter feito. Desejava muito poder voltar para mostrar de que forma os meus projetos são excelentes.
Sofônias acendeu o cigarro, ergueu-se, pôs uma das mãos à cintura e, agitando a direita com um jeito sacerdotal, aconselhou-me:
— É preciso ter muito cuidado com os pequenos fatos. São os grãos de areia que mudam a sorte dos impérios. Não me posso meter no teu, porque o autor da demissão é o Bonifácio, um rapaz orientado, verdadeiro republicano, respeitador fetíchico do regimen... Deves procurá-lo e, antes, explicar como foi a coisa pelos jornais.
Sentou-se, quando acabou, e eu lhe objetei:
— Mas, Senador, V. Exa. há de anuir que eu não posso confessar que me obrigaram à força a ir ao palácio.
— É verdade, menino. mas tens um bom "desgarro".
— Qual é?
— Afirmas que foi a multidão. Procura por aí um rapazola hábil nessas coisas de escrever e pode ser que arranjes a coisa.
Senti bem que a minha entrevista estava terminado e despedi-me. Segui o alvitre do Senador e imediatamente redigi a explicação que ia dar ao público e aos meus amigos. Publiquei-a nos "a pedidos" do Jornal do Comércio e, nela, eu dizia que, tendo tomado aquele nome ao acaso, para, mais em sossego e segurança, inspecionar os serviços do Ministério, sem me lembrar que era o do eminente político eleito governador dos Carapicus, a multidão, sem verificar identidades, mas apaixonada pelo nome que representava o seu ídolo, que resumia uma sua esperança de farta prosperidade, obrigou-me a ir tomar posse do alto cargo. Quem conhece a psicologia das multidões, dizia eu, sabe perfeitamente como essas coisas se passam e diante delas qualquer de nós tem e se curvar às suas vontades, como nos curvamos diante das manifestações das forças da natureza. Elas são o raio, o vento, a chuva, ao mesmo tempo; elas são verdadeiros cataclismos. Apontava testemunhas, citava episódios, e fiquei mesmo contente com o meu escrito.
No dia seguinte, resolvi-me a procurar o Bonifácio, no palácio governamental. Havia, na sua antecâmara, mais de cinqüenta pessoas, metade das quais eram mulheres, moças bem postas e galantes.
A ansiedade se estampava naquelas caras e, em muitas, havia também o vexame.
O Estado é o mais forte desmoralizador do caráter. Mais que os vícios, o álcool, o jogo, a morfina, a cocaína, o tabaco, ele nos tira toda a nossa dignidade, todo o nosso amor-próprio, todo o sentimento de realeza de nós mesmos.
Muitas daquelas eram pessoas de cultura, de educação; entretanto, para obter isso ou aquilo, se tinham que agachar, que adular um tal Bonifácio que, no fim de contas, não passava de um criado do Sr. Presidente.
Depois disso, que sensação delas mesmas poderiam ter? Fossem servidas ou não, sairiam degradadas.
Bonifácio passou por nós e entrou no seu gabinete. Todos nós nos desfizemos em sorrisos e cumprimentos e, quase sem nos corresponder, como se fosse um imperador, foi atravessando aquela chusma de súditos necessitados.
O seu tipo físico não lhe dava majestade, mas arrogância. Era baixo, com o pescoço enterrado nos ombros; a roupa assentava-lhe mal, embora fosse cara de preço e de alfaiate. No seu rosto acobreado com malares salientes, os seus olhos pardos e pequenos morriam sem brilho. Donde lhe vinha aquele poder de Charles Martell? Donde lhe vinha aquela dominação extraordinária? Ninguém sabia. O certo, porém, é que ele se pusera acima de tudo e não havia objeção legal que detivesse os seus caprichos.
Tardei muito em ir à sua presença, pois fui um dos últimos. Quando atravessava a porta do seu gabinete, veio-me ao espírito uma pequena dificuldade. Como devia tratá-lo? Sabia que tinha uma patente da guarda nacional, mas de que posto ignorava. Seria melhor tratá-lo de Doutor e, logo que me pus na sua frente, fui dizendo, sem reflexão:
— Doutor...
Estava quase a arrepender-me, mas notei que ele não se aborrecera. Ao contrário; a sua má fisionomia tomara uma rápida expressão de satisfação. Continuei:
— Doutor, eu sou o Dr. Gregory Bogoloff que...
Bonifácio adiantou-se e interrompeu-me:
— Sei. Li sua explicação. Sente-se, pois preciso falar-lhe demoradamente.
Animei-me com acolhimento tão lisonjeiro e eu mesmo me disputei em baixeza e adulação:
— Vi logo que o esclarecido espírito de V. Exa. ficaria satisfeito com as minhas palavras.
— Não digo que não, mas há um ponto que não está bem explicado.
— Qual é, Doutor?
— Por que você (gostei da mudança) não fugiu?
— Não havia meios. Temi que na estrada de ferro me reconhecessem e...
— Mas podia fugir de canoa para o Estado das Abóboras, que fica perto.
— Perto! São duzentos quilômetros!
— Tanto? No mapa ficam tão juntos!
— Ah! Isto é no mapa.
— Bem. São coisas de astronomia que não entendo. A minha preocupação é não deixar o Simplício ser embrulhado, por isso meto-me nessas coisas... Só quero amigos no governo dos Estados.
— V. Exa. faz muito bem, porque não faltam aí traidores. Aprovo "in totum" o procedimento de V. Exa. O governo e as leis são feitos...
— Leis! Bacharelices! Espoliações!
Expliquei-lhe que desejava a minha reintegração, tanto mais que eu era inocente, como se havia verificado.
— Não posso fazer isso que você pede. O lugar já foi preenchido, mas não faltará ocasião para servir ao amigo. Conte comigo.
Deu-me uma amigável palmada no ombro e eu sai certo de que ele não me arranjaria coisa alguma.
Vendo-me nessa situação, tratei de liquidar a minha casa, apurar o dinheiro que pudesse e viver o mais economicamente possível.
Vivi assim cerca de seis meses folgadamente, mas ao fim desse tempo, começou o dinheiro a escassear e eu passava os dias a arquitetar planos que me fizessem sair do embaraço.
Tinha ainda bastante roupa branca e ternos bons; mas, as botinas e o chapéu começavam a ficar velhos. Influi muito no nosso destino um chapéu ensebado ou umas botinas cambaias e, como eu não desanimava de encontrar uma posição oficial, era-me necessário tê-los novos, para que os políticos não fugissem de mim.
A principal função dos políticos é dar empregos, mas eles não gostam de ser atormentados com pedidos e detestam que os maltrapilhos o façam.
De modo que, para eles, quem precisa de emprego, para viver, deve estar cheio de dinheiro com que pague bons vestuários.
Sabendo muito bem desse ponto de psicologia política, assisti com pesar à ruína dos meus chapéus e o acalcanhamento das minhas botas. Tinha uma cartola que, por pouco uso, estava nova em folha e dei em usá-la comumente.
Sem querer aumentei minha consideração e muita gente que me supunha na miséria, passou-me a tratar de forma mais atenciosa possível. Resolvi, por esse tempo, dar um plano que me trouxesse um chapéu novo, porquanto aquela cartola usada todo dia podia dar a entender que eu não tinha outro chapéu. Não convém usar muito repetidamente a cartola. No começo, faz sucesso; mas, com o correr dos dias, denuncia a miséria em que estamos.
A questão do chapéu era para mim importante e decidi-me a resolvê-la quanto antes.
Quase sempre nas minhas excursões pelas casas dos políticos, ia tomar uma garrafa de cerveja a uma pequena confeitaria situada num arrabalde. Desde a segunda vez que lá fui, o caixeiro, à falta do que fazer, pôs-se de conversa comigo. Não deixei de dar-lhe atenção e a todas as suas perguntas respondia com o máximo desenvolvimento. Gostou ele muito da minha prosa e apreciou sobremodo a minha erudição. Passei a tomar duas garrafas em vez de uma e fui estreitando a amizade que tinha com ele.
Certo dia, estava eu conversando com a minha recente amizade, quando fiz reparo que, defronte à confeitaria, havia uma chapelaria. Notei ainda que os chapéus não eram maus e, não sei bem por que, veio-me a idéia de que aquele era o estabelecimento destinado a fornecer-me o chapéu. Eu queria um chapéu bom e os meus cobres não chegavam para isso. Pensei e achei um excelente plano para obter um.
Creio que a coisa se passou numa sexta feira. Cheguei muito cedo à confeitaria e disse ao caixeiro, meu amigo:
— Tenho que dar uma festa lá em casa e preciso de doces. Fui a diversas confeitarias e não puderam aceitar-me a encomenda, pelo simples motivo de que já têm muitas. Você podia servir-me?
— Pois não, Dr.
Tinha com jeito dado a entender ao caixeiro que era doutor, mas não lhe disse o meu verdadeiro nome.
— Bem. Então você me manda preparar isso e mais cinqüenta pastéis.
O caixeiro já ia correr aos fundos para fazer a encomenda, mas eu o detive e intimei:
— E mais cinqüenta pastéis! Não se esqueça!
O amigo foi à cozinha. voltou e eu disse-lhe então:
— E mais cinqüenta pastéis! Veja bem!
— Estão encomendados.
— Logo mais, quando vier buscá-los, pagarei.
— Não há dúvida, Doutor.
Saí muito contente e entrei na chapelaria como um rei. Pedi um chapéu e o caixeiro não tardou em servir-me. Escolhi com todo o vagar, mirei-o no espelho e disse com todo o garbo:
— Quanto custa?
— Vinte e cinco mil réis.
Aprumei-me todo e disse com toda ênfase:
— Não tenho aqui o dinheiro bastante; mas não há dúvida. Deixei ali, na confeitaria, cinqüenta mil, para pagar uma conta e vou ordenar que lhe deem vinte e cinco. Venha cá!
O caixeiro seguiu-me e, ao chegarmos à porta, apontava um bonde.
— Que diabo! — disse eu. — Lá vem o bonde... Não há dúvida. Falo daqui mesmo.
E gritei para a confeitaria, chamando o caixeiro:
— Chico! Chico!
Não tardou que o meu espontâneo amigo aparecesse na porta. Eu lhe disse:
— Daqueles cinqüenta, manda vinte e cinco para o senhor, ouviu?
E apontei o empregado da chapelaria, que estava ao meu lado.
— Sim, senhor! — respondeu o Chico
O bonde chegava, despedi-me do caixeiro da chapelaria, que muito contente me oferecia o chapéu embrulhado.
Tomei o lugar no bonde e não sei do seguimento a aventura, porque nunca mais voltei por aquelas bandas, mas fiquei com o chapéu e não fui perseguido nem pelo confeiteiro nem pelo chapeleiro.
Animado com o sucesso da aventura, planejei logo obter os sapatos, tanto mais que queria procurar o Bonifácio e não me convinha ir com os sapatos cambaios.
Acontecia comigo uma coisa que se dá com todos. Desde que se tem uma idéia feliz, a tendência de nosso espírito é respeitá-la. Por isso, levei alguns dias, pensando em obter os sapatos da mesma forma que o chapéu. Ora, unicamente o acaso me havia protegido, pondo uma confeitaria em frente de uma chapelaria e, ainda por cima, fazendo o caixeiro simpatizar comigo.
Para o caso das botinas, podia não acontecer a mesma coisa, e eu sair-me mal. Resolvi, então, tentar outro caminho. De resto, era ele necessário, pois não tinha nem dez tostões de meu e dos últimos que me restavam, doía-me muito desfazer-me.
Conhecia vagamente um sujeito que tinha numa rua central da cidade um escritório de advogado, creio eu, onde fora duas vezes ver se ele me pagava uma conta que me deram para cobrar.
Escusado é dizer que ele nunca pagou e, certa manhã, resolvido a pregar-lhe uma peça e obter sapatos, fui até lá.
O pequeno criado, esses pequenos criados maltrapilhos de advogados, varria o escritório quando eu entrava . Perguntei-lhe?
— O Doutor não está?
— Não senhor. Só chega ao meio dia.
O pequeno me conhecia e eu então lhe pedi:
— Você deixa-me experimentar aqui umas botinas? Estou com as meias rotas e não me convém ir a uma loja. Posso?
— Pois não.
— Bem — disse-lhe eu — você vai à casa tal e diz que mande um par de botinas, bons, número tanto.
Dei-lhe o meu último níquel e o pequeno lá foi. Não tardou que viesse um empregado com os sapatos. Experimentei e disse ao caixeiro da loja:
— Estão bons; mas o pé direito aperta-me um pouco. Leva-o e põe-no na forma uma meia hora.
Assim fez e eu, logo a seguir, disse ao pequeno do advogado:
— É bom a gente sempre experimentar. Você vai na loja número tal e pede que mande um par de botinas.
O criado do advogado foi e eu tive o cuidado de esconder o pé que já tinha. Quando chegou o caixeiro da outra loja, experimentei e depois lhe disse:
— Estão muito bons, mas o pé esquerdo aperta-me um pouco. É bom por na forma.
O caixeiro seguiu a minha recomendação, deixando-me o pé direito e eu me vi de posse de um magnífico par de botinas.
Aproveitei a ida do pequeno ao interior do prédio e saí a todo vapor, antes que me surpreendessem naquele casamento de pés de botina de uma e outra casa.
Não sei o que se seguiu, mas o certo é que ninguém me incomodou, tanto mais que, por precaução, deixei-me ficar uns dias em casa, roendo uns restos de pão duríssimo, que ficara abandonado em cima da mesa em que fazia café.
Foram esses os piores dias da minha vida, não só pela fome que passava, mas também por sofrer as maiores angústias. Não tinha mais jóias, restava-me alguma roupa de pano e a primeira coisa que fiz, ao sair, foi vender uma parte delas no primeiro "belchior" que encontrei. Pude então comer e, satisfeita a fome, foram-se de mim todos os tristes pensamentos que me assediavam.
Essa venda de alguns ternos de roupa que me tinham ficado da boa época de Diretor da Pecuária Nacional deu-me apenas alguns mil-réis com que passar uns dias, mas bem cedo vi-me na mais completa penúria e tive que engendrar um plano para obter dinheiro, a menos que não quisesse vender a única roupa que tinha.
No quarto em que morava, cujo aluguel fora pago adiantado, durante um ano, havia um braço de gás, com o respectivo bico.
Agarrei-o. limpei-o convenientemente e saí decidido a fazer dinheiro com ele.
Tomei um trem de subúrbios e saltei, ao acaso, em uma estação. A primeira coisa que fiz, foi procurar uma vendola e nestes termos dirigi-me ao dono:
— Senhorre não quer compra um bico de gaz aperfeiçoado que faz economia?
Sabem que falava bem português, mas iludia melhor falando dessa forma. O dono da venda, do alto do seu protuberante ventre, disse-me:
— Que diabo de coisa é esta, ó homem?
Repeti-lhe eu:
— É uma bica...
— O quê?
Fingi que não lhe entendia a interrogação maliciosa e respondi ingenuamente:
— É uma bica de gaz que luz melhor e economia...
O taverneiro pegou-me na mercadoria e a esteve examinando atentamente:
— Que diabo! — disse-me ele, afinal. — Não lhe vejo nada de novo.
— Senhorre, fiz eu , a questão não está na coisa nova...
— O quê — acudiu ele, rindo às gargalhadas.
Eu não me dei por achado e continuei muito humildemente:
— Questão não está na coisa nova mas "diâmetro" do tubo por onde passe o gaz. Diz fisique ...
— Bem — perguntou-me o crédulo merceeiro — quanto queres por isso?
— Quatro mil réis.
— Muito caro. Demais, não sei se isso presta.
— Senhorre experimenta. Se não prestá pode dá de novo a mim.
— Bem. Fico.
— Bem, senhorre, eu deixa ficar, mas senhorre dá uma garantia.
— Que garantia?
— Pode dá cinco tostões e o outro bico e eu volta amanhã ver senhorre compra.
— Vá lá.
Logo que me pilhei fora das vistas do homem, tratei de arear o bico que me dera e fui à outra casa propor a venda do meu bico aperfeiçoado. Muitos não quiseram, mas doze aceitaram e voltei, à tarde, para a cidade, com um bico.
Continuei a fazer a mesma coisa por outros bairros e assim pude viver cerca de um mês.
Todos esses planos e expedientes não me davam senão insignificantes resultados, de modos que eu estava sempre a braços com a mais atroz miséria.
Saía de uma semana de necessidades, entrava em outra em que comia, mas levava assim, sem dar um passo definitivo e seguro.
Muitas vezes pensei no roubo, mas este nunca dá coisa que se possa fazer o restante da vida segura e os riscos são muitos.
Seria magnífico um estelionato, mas, para tal, eram indispensáveis elementos que me faltavam: conhecimento do mecanismo da administração ou do comércio, capacidade para falsificar documentos e outros de igual jaez.
Pensava nessas coisas todas com a mesma frieza com que um general determina tal ou qual movimento, sabendo que as suas ordens vão determinar a morte de milhares de pessoas.
Não me vinha ao pensamento nenhuma impossibilidade moral nem qualquer consideração sobre o julgamento que a opinião podia ter do meu ato.
Sofria necessidades, tinha fome e queria viver de qualquer forma, fazendo só o que os grandes capitalistas, os políticos, os comerciantes e os industriais fazem, baseando-se nas leis e em transações mútuas entre eles.
Se em Odessa não me vieram esses desejos, é porque lá ainda estava moço e tinha dentro de mim essa horrorosa esperança que nos faz escravos desses exploradores todos, disfarçados sob os mais pomposos rótulos. No Brasil, não; já tinha mais de trinta anos e estava vendo a minha vida escorrer sem satisfação, sem sossego e sem ventura.
Demais, lá, se bem que não quisesse, tinha um resto de respeito pelas instituições pátrias; mas aqui o meu desprezo era total, era completo e por mais que me esforçasse por ter alguma veneração pelos senadores, deputados e autoridades restantes, não me era possível.
Eu as tinha visto por assim dizer no nascedouro e sabia perfeitamente como se faziam, o que representavam de fraude, de compressão e corrupção.
Conhecia-lhes, além do mais, a sua ignorância, a sua falta de inteligência e a nenhuma sinceridade deles todos.
Não deixava de influir também nesse grande desprezo que tinha pelos homens do Brasil, uma boa dose de preconceito de raça.
Aos meus olhos, todos eles eram mais ou menos negros e eu me supunha superior a todos.
De resto, eu — eu que era um pobre imigrante — não fora um dia aclamado como "salvador" de um Estado! De resto, eu — eu que não sabia o tempo de gestação de uma vaca — não fora Diretor da Pecuária do Brasil!
Eu desprezava tal terra, desprezava-a soberanamente, olimpicamente, inteiramente.
Para mim, era uma sociedade de ladrões, de mistificadores, de exploradores, sem tradições, sem idéias, disposta sempre à violência e opressão. A Rússia me pareceu mil vezes melhor...
Lá, se Plewnw era um tirano, é porque acredita no czarismo, na excelência daquela espécie de governo, supõem-no capaz de trazer felicidade. Ele não é simplesmente um sócio nos lucros do governo, não é simplesmente governo porque quer proventos; há nele alguma coisa de pensamento, de ideal, de saber.
Na terra em que estava, não havia nada disso, não havia nada de superior naqueles homens todos que tão de perto conheci. Eles queriam os subsídios, os ordenados e as gratificações e a satisfação pueril de mandar.
Falavam em princípios republicanos e democráticos; enchiam a boca de tiradas empoladas sobre a soberania do povo; mas não havia nenhum deles que não lançasse mão da fraude, da corrupção, da violência, para impedir que essa soberania se manifestasse.
De resto, esse povo do Brasil metia-me um ódio terrível. Eram de uma fraqueza e puerilidade revoltantes. Viviam à beira dos caminhos de ferro, quase nus, com fome, sem terras em que plantassem um aipim, deixando-as como propriedades de terríveis senhores feudais, que não as aproveitavam por falta de braços!
A verdade é que, no intuito de obterem lucros fabulosos, ofereciam salários mesquinhos e os trabalhadores que podiam empregar preferiam morrer à fome, a revoltar-se a aproveitá-las de qualquer modo. Eles não se associavam, eles não se entendiam, e os mais adiantados não seguiam, não apoiavam os seus raros grandes homens.
Com as convicções que já tinha e um país desses, não podia ter qualquer escrúpulo a respeito do que chama pomposamente a sagrada propriedade.
Naquela manhã, levantei-me bem cedo e saí a passear pela cidade. Estava bem lindo o tempo, e a cidade toda tomava um banho de azul.
Cansado, comprei um jornal e entrei num jardim, para descansar enquanto lia. Corri todas as seções da folha meio distraído, sem deter-me em nenhuma com mais atenção.
Havia entre as notícias uma que particularmente me chamou a atenção. Tratava-se da chegada do pintor sueco Hans Ingegered, grande artista de reputação universal. Vinha fazer uma exposição e o jornal se alongava em elogios aos seus méritos, afiançados por medalhas e diplomas de exposições universitárias.
Aquela notícia fez-me mossa no espírito e, não sei como, deu-me uma extravagante idéia: intitular-me pintor.
Nada sabia de pintura, mesmo de desenho tinha fracas noções da escola secundária; entretanto me parecia que era pela pintura que sairia daquelas atrapalhações todas. Pensei em fazer uma exposição, convidar o presidente, os ministros, Sofônias, enfim todos os homens poderosos do Brasil, por intermédio dos quais pudesse vender um ou mias quadros ao Estado.
Quando se está na miséria, surgem essas idéias extravagantes; são as visões radiantes que o afogado tem nas portas da morte.
O pensamento não me deixava e eu o julgava a coisa mais exeqüível desse mundo. Passeei ainda muito e vim ter ao centro da cidade. Encontrei um rapaz que tinha tido, no meu tempo de Diretor, um pequeno emprego na minha diretoria. Não o reconheci e foi ele quem me falou:
— Dr. Bogoloff, como vai o senhor? Onde tem andado?
Disse-lhe com certa reserva as minhas dificuldades, porque o meu aspecto ainda era bom; mas ele farejou que eu passava necessidades e fez-se mais efusivo. Contou-me que estava próspero, pois, além de ter tido dois acessos, ainda era redator de um jornal. Dei-lhe parabéns e ele me disse:
— Estimo encontrá-lo, porque tenho uma obrigação com o senhor.
Não me recordava mais que lhe emprestara cem mil réis; e, dando-me todas as desculpas pela demora, fez com que os aceitasse. Convidou-me para almoçar, mas não aceitei e fiquei de procurá-lo no jornal em que trabalhava.
Deixando-o, a idéia de fazer-me pintor voltou-me e continuou a perseguir-me até o quarto. Pensado melhor, resolvi tentar a crítica da arte e, pretextando a chegado do pintor sueco, escrevi um artigo sobre as artes plásticas no Norte da Europa, que eu não conhecia absolutamente. Levei o artigo que foi publicado, mas no dia imediato saiu-me pela frente um contraditor.
No calor da polêmica, excedi-me e, além de desenvolver considerações gerais, fiz uma crítica severa à arte brasileira. Afirmei que ela não tinha interpretação, nem julgamento; que era simplesmente fotográfica.
O meu contendor caiu-me em cima cheio de fúria e ele e mais outros desafiaram-me a que eu definisse o meu ideal artístico.
Respondi-lhes mais ou menos nestes termos: "que a pintura devia ser intensiva e psicológica; que um quadro devia ter não só aquilo que ele queria dizer objetivamente. mas também subjetivamente; que pintar a batalha de Salamina, por exemplo, não era grupar mais ou menos bem soldados gregos e persas; mas era oferecer ao espectador a súmula de todos os pensamentos que lhe sugerisse a lembrança dessa pugna. Era evocar o heroísmo grego, o seu amor à beleza, a sua influência na civilização humana, o gênio especulativo, sem esquecer que ali, naquela batalha, se havia jogado o destino da civilização."
Havia dito isso a esmo, para sair-me da embrulhada e mesmo com certo entusiasmo, porquanto os meus artigos começavam a fazer sucesso e as minhas teorias a obter adesões. Apesar disso, não mas pagaram absolutamente.
O meu adversário, porém, ao ler tão curiosas afirmações, levou-me ao sério e desafiou-me a que eu pintasse a tal batalha da Salamina.
A princípio quis fugir, mas vi tanta gente convencida da verdade das minhas teorias que eu resolvi levar a coisa até o fim. Retruquei afirmando que a pintaria e, em breve, teria o prazer de convidar o meu contraditor a ver o meu quadro.
Graças à larga publicidade dos jornais em que se travara, a polêmica tinham repercutido em meios em que absolutamente não se cuidam dessas coisas.
Bonifácio, a quem vim a encontrar em certo dia na rua, falou-me a respeito dela com o interesse que a sua cultura lhe dava:
— Li os seus artigos. Magníficos! Essa gente por aí não sabe o que é uma batalha... Você, sim, Bogoloff, mostrou que as conhece. Faça a sua exposição que lá iremos... O Presidente irá também; você não sabe como ele se interessa por essas coisas...
Além de Bonifácio, muitas outras pessoas das altas regiões oficiais falaram nas minhas teorias estéticas, entre as quais o ilustre Sofônias.
— Menino — disse-me ele — você é o diabo. Não sabia que você entendia dessas coisas de quadros.
— Não se recorda V. Exa. que, a princípio, lhe pedi um lugar nas Belas Artes?
— Ah! É verdade. Quando você pretende expor?
— Dentro de seis meses.
— Lá estarei, para ver a derrota dos turcos.
— Não se trata de turco, mas de persas; V. Exa. quer talvez falar na batalha de Navarino.
— Ah! É verdade, menino; esses nomes causam uma certa confusão.
A vista do interesse que tão altas pessoas mostravam pelas minhas aptidões pinturiais, tomei o alvitre de atacar a credulidade pública até o seu entrincheiramento: dispus-me a fazer qualquer coisa na tela e pôr por baixo o título — Batalha de Salamina — para ver no que dava.
Andava de novo em apuros de dinheiro; graças, porém, às minhas novas relações no jornalismo, obtive ser de um velho rico o seu secretário, para os efeitos da correspondência em francês que mantinha com uma certa criatura francesa.
Com o dinheiro que ele me dava, comprei os apetrechos de pintar, mas a minha insuficiência era tal que nem as tintas pegavam na tela.
Não desanimei e, conhecendo um borrador italiano, que vivia de pintar tabuletas e ilustrar quiosques, tratei com ele o auxílio que necessitava.
Sobre uma tela de cinco metros sobre dois e meio de altura, mandei que ele pintasse as coisas mais desencontradas desse mundo. No primeiro plano, pus um "embrulho" de palavra ilegível que mais pareciam caravelas; o mar parecia de um azul tão carregado que tendia para o negro; ao alto pus numa grande desordem a Torre Eifel, a Vênus de Milo, um trem de ferro, um prelo de imprimir, etc. O céu fiz vermelho como se estivesse pegando fogo. Enquadrei coisa tão doida em uma moldura durada e anunciei a minha exposição.
Nas vésperas, por meio de uma "interview" tive o cuidado de explicar a teoria do meu quadro. Afastava-me, dizia eu, das modernas regras de perspectiva, para dar a impressão e antigüidade; a batalha era simplesmente delineada, no intuito de não se obter, com a sobrecarga de detalhes, uma diminuição do símbolo, transformando-a em uma grosseria fotográfica, etc.
Convidei todas as altas autoridades e com quem mais instei que viesse foi com o Bonifácio. Era nele que eu depositava toda a minha esperança.
No dia marcado, muito solene e convencido, dentro de uma enorme sobrecasaca, lá estava eu à espera das autoridades.
Não tardaram a chegar e, entre Bonifácio e o Presidente, dirigi-me para o salão em que o quadro estava exposto. Logo que o viu, Bonifácio exclamou:
— É maravilhoso!
O Presidente confirmou:
— É extraordinário!
O Ministro do Interior alongou-se mais:
— É de uma originalidade flagrante.
O Ministro das Belas Artes que até aí se mostrava reservado, não se conteve:
— É uma obra prima!
Os outros convidados não oficiais vieram chegando e, vendo o entusiasmo do grupo "executivo", abundaram nas mesmas considerações.
A Viscondessa de Cinco Pontes veio cumprimentar-me e disse-me:
— Pode o senhor ficar certo que pintou o quadro mais original do nosso século.
Não ficaram aí os cumprimentos e elogios, que foram muitos, mas da maioria dos quais não me recordo mais.
Naquele dia, o sucesso foi absoluto e, nos que se seguiram, não diminuiu muito. Os jornais, em geral, me fizeram elogios, senão rasgados, ao menos gabaram a minha concepção ousada, fazendo restrições sobre a minha técnica; O meu antigo contendor passou-me um deboche em regra, mas a sua opinião não pesou, como não pesaram as dos pequenos jornais e revistas em que fui debochado a valer.
Em resumo: o julgamento de Bonifácio foi vitorioso e a minha extravagante borra teve as honras de obra-prima.
Foram tais os elogios que eu mesmo me convenci de que era um grande pintor e tinha uma vocação perfeitamente "vinceana" que até então não tinha sabido aproveitar.
Tratei de agradecer às pessoa eminentes a honra que me tinham dado e comecei pelo Bonifácio.
— Oh, caro Bogoloff — disse-me ele quando me viu — você tem todas as habilidades. O Presidente gostou muito de seu quadro, achou-o original, e falou mesmo em adquiri-lo para a Pinacoteca Nacional. Você quanto quer por ele?
Pensei um instante e respondi com modéstia:
— Quero dez contos.
— Peça vinte, homem.
— Vai lá.
E daí a dias tinha eu vendido por tal quantia a minha maravilhosa extravagância ao Estado, para ensinamento e edificação dos pósteros
Capítulo IV Fui um momento Sherlock Holmes
(A primeira lauda dos manuscritos deste capítulo não foi localizada)
Graças a ele, vim a conhecer muita coisa dos bastidores da política e tive ocasião de incomodá-lo em pequenos obséquios. Após ter pintado a batalha da Salamina, cujo sucesso excedeu à minha expectativa, resolvi descansar e gastar com parcimônia o dinheiro que o quadro me rendera. Vivi retirado muitos meses e pouco apareci nos lugares públicos e quase nenhuma visita fiz.
Aluguei nos arredores da cidade uma chácara e lá passei o dia a plantar couves.
Certo dia, estando deveras aborrecido, tomei a resolução de vir até a cidade.
Desembarquei cedo e como tivesse fome, procurei um restaurante.
Ao entrar, encontrei já sentado à mesa o deputado Numa que me chamou para junto de si. Antes de mais nada, ele me perguntou:
— Não vais à manifestação de Sofônias?
— Quando é?
— Amanhã;
Disse-lhe que não; Numa, porém, insistiu, expondo curiosas doutrinas com abundância de fatos concretos, doutrinas que eu resumo aqui para edificação dos jovens que se destinam à carreira política. Mais ou menos, ele me disse, as belezas que se seguem.
Essas presenças, essas atenções, enfim, este ritual de salamaleques e falsas demonstrações de amizade influía no progresso da vida. Como havíamos de subir, ou, pelo menos, de manter a posição conquistada, se não fossemos sempre às missas de sétimo dia dos parentes dos chefes, se não lhes mandássemos cartões nos dias de aniversário, se não estivéssemos presentes aos embarques e desembarques dos figurões?
Um bota fora, às vezes, decidia uma eleição. Vejam só o que aconteceu com o Batista. Estava nas boas graças do Carneiro, mas, no dia do embarque deste para Pernambuco, deixou de ir. Carneiro notou e, quando o Bandeira quis incluí-lo de novo na chapa, opôs-se tenazmente.
Os chefes não admitem independência, nem mesmo nos embarques.
Os pequenos presentes mantém as amizades; mas, na política, não são só os presentes que mantém as relações; é preciso que os poderosos sintam que gravitamos em torno deles, que nenhum ato íntimo de sua existência nos é estranho, que o natalício dos filhos, o aniversário de casamento ou de formatura, o falecimento da sogra se refletem no movimento e como que perturbam a órbita da nossa vida.
Como nesse ponto, era assim em tudo o mais — acrescentava Numa. Sempre tivera a visão nítida da vida social, jamais a vira pelo lado épico ou lírico. Concebera a existência chãmente e, graças a essa concepção, estava seguro na vida, rico pela fortuna da mulher e deputado pelo Estado de Sernambi, onde dominava seu sogro, o Senador Neves Cogominho.
Desde menino, vendo o seu orgulhoso pai sofrer de todos os seus superiores enfardelados em retumbantes títulos e esmaltados em galões, sentira bem que era preciso não perder de vista a submissão aos grandes do dia, adquirindo distinções rápidas, formaturas, cargos, títulos, de forma a ir se extremando bem etiquetado, doutor, sócio de qualquer instituto, juiz ou coisa que o valha, da massa anônima.
Era preciso ficar bem endossado, ceder sempre às idéias e aos preconceitos sociais. Esperar por uma distinção puramente pessoal ou individual, era tolice. Se o Estado e a sociedade marcavam meios de notoriedade, de fiança de capacidade, para que trabalhar em obter outros mais difíceis, quando aqueles estavam à mão e se obtinham com muita submissão e um pouco de tenacidade? Era assim a vida... Convenci-me de que ele tinha muita razão, tanto mais que, de experiência própria, sabia da verdade das suas asserções. No dia seguinte, fui à casa de Sofônias e encontrei Numa, no vão de uma janela, um tanto triste e apreensivo. Aproximei-me dele, cumprimentamo-nos, mas pouco conversamos.
O palacete do Senador Sofônias, inteiramente aberto e iluminado, fulgia ao fundo de um longo jardim na encosta negra de um morrote. Perdidos na massa escura dos canteiros, glóbulos elétricos brilhavam amortecidos, abafados.
Era dia do aniversário do poderoso Senador Sofônias, um dos prestigiosos chefes da política geral do Brasil.
Auxiliado pelos seus amigos, organizava aquela retumbante festa, para atenuar um pouco os furiosos ataques que vinha sofrendo na imprensa.
Esperávamos a manifestação e, como nós, muitas outras pessoas de importância e hierarquia. Erravam pelas salas dos palacetes de Sofônias os nomes mais em evidência da política nacional. Lá estava o F. J. Brochado, um curioso tipo de político, como quase todos os de sua raça, secos d?alma, mas como pouco deles agitado, a fazer praça de honesto, a intrigar, tendo sems, conforme fosse o momento, a ocasião, a vaga, sem atender a saber ou ao que fosse.
Havia também o Carlos Porto, um singular orador, desanimado, mas preso à política, possuindo, entre muitas extravagâncias, a de ser um escritor canhestro, a modelar moldagens de fragmentos de antigas estátuas, numa teima de doido declarado.
Alem destes, também se encontravam o General Júlio César Tupinambá, um crente do nosso misticismo militar, convencido de que a sua qualidade de general dava-lhe capacidades superiores de governo e administração; o Sarmento Heltz, uma mistura de judeu e alemão, fino e frio; o gordo Pieterzoon, o Castelo, o Galvão e outros. A todos ele eu conhecia, mas vi um circunstante cujo nome não sabia. Era um rapaz amulatado, pescoço enterrado no corpo, um queixo a lembrar peixe, mas com uma marcha saltitante de tico-tico à cata de migalhas.
E ele saltitava de grupo em grupo, dizendo aqui uma coisa, ali outra, como se quisesse agradar a todos e a todos contentar. Perguntei a Numa quem era, mas ele também não sabia.
Quando o Bastos, líder de sua bancada, apareceu, Numa apressou-se em indagar.
— É o Quitério Almada.
— Quem é?
— Não conheces? É um rapaz de muito talento. Escreve artigos maravilhosos.
— Esses talentos...
Numa não gostava dos talentos, não invejava; não gostava mesmo, achava-os prejudiciais à vida, fracos para obter a mínima coisa, orgulhosos e exigentes e, como que a perturbar a existência dos felizes, com a atenção que se devia a eles.
— Não gosta dos talentos? — perguntou-lhe o Bastos.
— São muito pretensiosos, não se submetem a ninguém e não amam ninguém.
— Quem ama alguém?... Aquele que estás a ver, o Quitério, esteve sempre disposto a submeter-se. Muda de senhores, mas se submete...
Numa não insistiu com o colega de bancada. Ele o sabia mordaz na familiaridade, com pequenas ironias, num cinismo de que ninguém o tirava. Afastou-se.
Fora um ato de perversidade a eleição de Bastos pelo Neves Cogominho. Obscuro e pobre, sem nenhum título valioso aos olhos da política, certo dia publicara um pequeno folheto sobre a história que chamara a atenção dele. Neves Cogominho, para mostrar que a sua oligarquia sabia abrir caminho aos jovens talentos, fizera-o deputado estadual e mais tarde federal. Bastos julgou que o melhor meio de manter a posição era apagar-se completamente, não dar na vista e assim o fez. Vingava-se fazendo troças em família, arquitetando ditos e frases.
A manifestação não chegava e aquela gente fria ansiava pela sua chegada e a sua dissolução, para que ficassem à vontade, longe da presença daqueles vagabundos que deviam compô-la.
A política, por esse tempo, mais do que nunca, constituía num jogo de interesses estritamente pecuniários, representados pelos proventos dos cargos e o que se arranja com auxílio deles. Mais atroz e feroz esse jogo aparecia à vista da temporariedade dos cargos e da falta de uma base fixa e forte em que os detentores atuais se apoiassem ou pela bajulação, ou pelo talento, ou pelo sangue, como aconteceria se estivéssemos sob um Império ou numa monarquia qualquer.
A simulação eleitoral nos Estados não bastava, pois havia ainda o reconhecimento nas Câmaras, onde uma maioria audaz e desavergonhada podia tudo fazer e desfazer com o monte de atas falsas que chegavam.
De forma que todo o trabalho dos feudatários estaduais estava em ter sempre ao seu lado essa maioria, para que os descontentes de todos os matizes não se servissem deles para alcançarem os postos de governo.
A grande habilidade dos chefes estava em manobrar essa maioria no Senado, tendo para isso um grande império na Câmara.
Se houvesse algum chefe estadual recalcitrante. a entrada do seu representante no Senado seria cortada; e, como todos queriam essa entrada, faziam os seus homens na Câmara obedecer aos ditames dos chefes coligados.
Sofônias Antônio Macedo da Costa era o diretor da política nacional.
Obtivera esse poder com os meios mais insignificantes, com intrujices de comadre, com abraços e salamaleques e também com certo ascendente de forças que não se lhe podia negar. Ele metia um pouco de medo; medo de quem está em presença de um valentão, mas medo.
Nada, além disso, o fazia notável, nem o saber, nem o talento, nem a ilustração. Nada! Embora bacharel, não tinha aí pelos seus cinqüenta e poucos anos a menor reminiscência das coisas do seu curso e dos seus preparatórios. Certo dia, em face do mar calmo, querendo fazer frase, disse com ênfase: "O mar está no seu "status quo"; em outra vez, num discurso, dissera: "Não posso admirar esses "bonzos" de uma nova trindade védica".
Como estas, contavam-se dele muitas anedotas e ele ia, entretanto, dominando, ora com astúcia, ora com golpes de força, aquelas fracas vontades e aquelas duvidosas inteligências.
A sua história era curta e sugestiva. Mal se formara, internara-se nos sertões de Mato Grosso e vivera a bater-se contra a natureza, criando gado aos milhares de cabeças, sem se dar ao incômodo de leituras e estudos, de sociabilidade e delicadezas. Aprendera a dominar pela força, a se fazer temido se não queria ser roubado e esmagado, a dominar os homens e os irracionais, cujas fronteiras ele não estabelecia nitidamente.
Os peões recalcitrantes, os bandos de salteadores de currais, os rivais na política, ele sabia que só se dominavam com o punhal, com a garrucha, com o bacamarte, assim como os potros e os novilhos a laço, a bridão, enfim à força, e pondo-lhes a morte nos olhos.
Perdera todo o verniz civilizado e tinha da política uma concepção de estância, onde o gado deve ser dominado, marcado a ferro quente e sempre disposto a ser reunido para a venda aos invernadores.
Uma revolução trouxera-o à tona. Armara à sua custa um troço de duzentos bandidos, gente sem fé nem lei, acostumados a essas empreitadas, e à frente deles e de outros que se lhes agregaram, bateu, fuzilou os adversários, talando-lhes as propriedades com uma ferocidade de vândalo.
Ele fez a guerra à tártara, em arremetidas impetuosas e distribuindo tudo o que saqueava entre seus homens. Ganhou prestígio e o governo teve-lhe respeito.
Acabada a revolução, circundava-lhe o nome uma auréola de bravura e inumanidade que o levou às culminâncias; e, sentindo bem donde lhe vinha o prestígio, nunca mais deixou que seu halo esmaecesse. Ia às matanças em Santa Cruz, fez tiro aos pombos em casa, não faltava às touradas e, certo dia, numa festa campestre, à vista das damas em faniquitos e dos homens aterrados ajudou a carnear uma rês, que era destinada ao churrasco, à moda dos Estados criadores.
Esse aspecto feroz e guerreiro, que tinha tomado para o seu papel, dava-lhe mais ascendência sobre as consciências fracas e vacilantes do que os discursos mais altamente literários e mais conceituosos que ele pudesse pronunciar.
Oh! diziam eles. O Sofônias! Aquilo é que é um homem. Acerta numa moeda de vintém a cem metros! E de revolver.
Numa tinha por ele o respeito do "sheik" pelo sultão; uma mescla de terror físico e assombro religioso. Nada avançava na sua presença que não soubesse ser de sua opinião; nada dizia na sua ausência que não fosse um quente elogio ao rei.
— O Sofônias é um chefe! Ele sabe manobrar e comandar! Depois, é de uma lealdade...
Como Numa, afora alguns recalcitrantes, que se apoiavam na força transitória do Presidente, todos eram assim no temor àquele emir, aquele kã legislativo.
Vimo-lo passar com o seu passo demorado, numa lentidão vagarosa de monarca em seu palácio, mas a sua solenidade tinha alguma coisa de manequim, era dura, era procurada, como se não estivesse habituado a ela.
O cigarro de palha vinha-lhe meio apagado no canto dos lábios e ele olhava sem expressão a tudo aquilo, com aquele seu olhar sem brilho que parecia ser falso, emprestado.
No seu porte, não havia coisa alguma de dominação. Era vulgar de fisionomia, empastada, sem expressão, rígida; mas apurara-se no vestuário, usando a roupa muito colada ao busto, que parecia modelado num espartilho.
Aproximou-se acompanhado de Quitério, cuja gagueira dava às suas palavras lisonjeiras a lentidão das baforadas de incenso queimado ao turíbulo.
Numa chegou-se ao califa e cumprimentou-o longamente.
— Menino, obrigado — disse com ênfase Sofônias. — Essas coisas agradam muito. Nós, homens da nação, que vivemos "encangados" no respeito às leis e aos princípios republicanos, só temos esses momentos para nos vingar dos nossos inimigos — "embolamo-nos"!
Falava sempre com metáforas e termos de criador e de matadouro.
A sua mulher chegara e o grande senador perguntou com aquela voz em que os "aa" eram demorados e muito abertos:
— Filha, não falta nada?
— Nada, Sofo.
— Quero que os amigos saiam satisfeitos. O "potreiro" deve ser bom para todos.
Aos poucos, ele se viu cercado e todos tinham vontade de mais humilde se mostrarem. O gordo Pieterzoon era o único que falava com desembaraço. O prestígio de sua real inteligência sobre o chefe dava-lhe esse direito; mas os outros, o Brochado, o Sarmento Heltz e até o general Tupinambá só tinham um desejo: rojarem-se aos pés daquela espécie de monarca oriental sem califato nem kanato.
Dentre todos, aquele que dava maiores demonstrações de admiração e respeito a Sofônias era Brochado, não só porque era o mais falso, como queria apagar no espírito do grande chefe as picardias que lhe tinha feito.
Tratavam dos últimos acontecimentos políticos. O caso em questão era a formação de um novo Estado com territórios adjudicados por um recente tratado. O projeto era inofensivo, mas Sofônias queria aproveitá-lo para fazer uma demonstração e força ao governo. O procedimento do Presidente não lhe agradava; Simplício parecia não lhe querer obedecer e Sofônias temia que a sucessão presidencial lhe fosse desfavorável. Até agora, não se havia declarado francamente, mas empenhava os seus esclarecedores: os jornais e aqueles dos seus deputados que simulavam independência de pensamento. A imprensa do governo, conhecendo perfeitamente o jogo, não se animava a atacá-lo e a da oposição ajudava.
Alguém, no momento, referiu-se ao discurso terrível que, contra o formidável Sofônias, pronunciara o Albuquerque.
Costale, deputado, adiantou mesureiro:
— Frases! Frases! Retórica e mais nada!
Esse Costale, Raimundo Costale, tinha a mania do americano, do "yankee", e a de que estava destinado a promover o soerguimento da agricultura no Brasil. A mania de "yankee" viera-lhe do gosto de raspar o bigode, moda muito pouco americana, e de ter passado uns meses nos Estados Unidos; e a de salvador da agricultura não se sabia bem donde vinha. É verdade que tinha uma fazenda, como toda gente, mas fazenda de recreio que não lhe dava lá grandes lucros, nem mesmo os comuns.
De fato era rico, mas dos rendimentos das fábricas de tecido que tinha e montara com o produto do caucionamento de títulos sem valor a um banco do Estado.
Foi, portanto, com o desprezo mais "yankee" que pronunciou:
— Frases! Frases! Retórica e mais nada!
Pieterzoon, um grande e grosso homem, gigantesco e desarticulado, holandês de origem, objetou:
— Não há de ser assim, dizendo frases, que vocês hão de desfazer a impressão que ele fez na opinião.
— Ora, a opinião! — comentou Numa. — A opinião somos nós que sabemos por que o Sales é a favor...
Ao que Brochado retrucou:
— Eu não tenho grande conta da opinião, quando sou governo. O povo se fabrica e quando não se fabrica, há chanfalho, bala e pata de cavalo; mas, quando não se está no poder, é preciso cativá-lo.
Sofônias ouvia um e outro com olhar distraído, aquele olhar torvo de agonizante, onde havia uma única e mortiça luz. Por fim, tirou uma fumaça, e disse:
— Não é assim também. Querem saber de uma coisa: eu tinha em casa uma vaca mansa que nem um cordeiro. Os meninos faziam dela o que queriam; montavam na rês, enfeitavam-lhe as pontas, punham-na na carroça. Um belo dia, tanto fizeram que ela se encheu de zanga e deu uma marrada num, quebrando-lhe o braço. É verdade que a matei — rematou com satisfação Sofônias.
Como agora, gostava de afetar liberalismo, tolerância, quando o seu fundo era de déspota, de tirano, de cacique; em presença daquela gente toda, sentindo ao seu redor uma grande cidade mais ou menos civilizada, procurava esconder o seu natural; e, obedecendo a essa ordem de sentimentos, aconselhou que alguém respondesse ao Sales e adiantou mesmo:
— Era bom que um de vocês falasse... Por que você não fala, Numa?
Havia nesse convite um pequeno plano. Sofônias temia que o Neves Cogominho se bandeasse e dessa maneira descobriria logo os seus planos. Se Numa falasse, o homem e a sua gente estavam presos; se não, as baterias ficariam descobertas.
Numa quis fazer ainda algumas objeções, mas, no instante, entrou alguém que propriamente não era da Câmara ou do Senado, era, porém, da política, e de quem já tratei, devendo-lhe até a apresentação a Sofônias.
Chamava-se Lucrécio da Costa, mas com as suas façanhas ganhara o nome de "Barab-de-Bode". Carpinteiro de profissão, depois de alguns assassinatos, julgara mais rendoso fazer-se capanga político.
Era um belo mulato escuro, forte e alto, de cabelos corridos, peito alto e ombros largos. Tinha uma fama de terrível e era muito procurado pelas eleições. Servia de guarda de corpo do Senador Sofônias e propagava a sua celebridade nas classes desafortunadas. Ao vê-lo, o Senador perguntou:
— Que há, Lucrécio?
— V. Exa. podia dar uma palavra em particular?
— Fale!
O capanga hesitou um instante e falou afinal, com timidez:
— Procurei "seu" Bento, mas...
Esse Bento era uma espécie de mordomo do Senador, motivo pelo qual fora nomeado partidor do Distrito. Nos dias comuns, encarregava-se de fazer as encomendas dos gêneros alimentícios para Sofônias; nos extraordinários, organizava as manifestações, os vivas, as aclamações, a tanto por cabeça, quando a polícia não queria encarregar-se da coisa.
O Senador compreendeu o que Lucrécio queria:
— Dinheiro, não é?
— É, Exa. Arranjamos mais dez "partidários" de V. Exa. que querem vir, e V. Exa. sabe que...
O Senador falou com arrogância:
— Fale com a Lala.
Correu à sala de jantar e eu o segui a observar. A esposa do Senador Sofônias, depois de dar o dinheiro a Lucrécio, voltou a conversar com as amigas.
— É mesmo uma maçada — fez ela ao chegar — A política, que coisa! Sofo mal ganha para gastar... Só de "champagne", quanto? e o "chopp"? e os doces? Todo o mundo quer ser político; é porque não sabe quanto custa?
Madame Costale, esposa do Deputado Rodolfo Costale, aventou então:
— Tudo é assim, D. Lalá: visto de fora tudo é fácil, mas cá do lado de dentro é que são elas... O Rodolfo, só em "facadas", gastou no ano passado cerca de três contos... Toda a gente pensa que os políticos ganham mundos e fundos... É um engano! Ganham, é verdade, mas gastam muito. E as subscrições?
— O que mais me aborrece — disse Madame Celeste Galvão, esposa do Deputado Galvão, futuro presidente do Estado de xxs — é essa gente que temos de receber... Que caras! Nem fazem a barba!... Não sou nenhuma rainha, mas suportar sujeitos tão mal vestidos... Qual! É demais.
A conversa demorou-se assim algum tempo e ia continuar quando se ouviram na rua os compassos da música militar que puxava a manifestação e todas aquelas senhoras dirigiram-se para a sala principal. No corredor ainda, D. Lalá pode dizer a Madame Galvão:
— Amanhã é que são elas! Copos furtados, "bibelots", o jardim estragado... Qual! esta política!
E a banda repenicava um dobrado canalha a todos os pulmões, as lanternas venezianas, nas pontas das varas, dançavam; e parecia tudo uma longa cobra fosforescente e musical que rastejava para o palacete. A multidão vinha premida na estreita alameda principal do jardim
—Viva o senador Sofônias! Viva!
Por entre vivas foram entrando, e Sofônias, no fundo da sala, cercado dos amigos presentes, já esperava a manifestação com sua majestade de manequim e a sua cabeleira untada de óleo, a reluzir.
Na frente dos manifestantes, vinha o tribuno Canto Ribeiro, celebridade dos "meetings" e manifestações. Era um tipo da cidade, teimoso orador do Largo de São Francisco, cuja oratória consistia em berrar a todos os pulmões as mais gastas chapas do Orador Popular . E ele tinha uns pulmões valentes e cada berro seu retumbava pela praça toda e era ouvido em todos os cantos.
Era também empreiteiro de manifestações, e, como todo o empreiteiro que se preza, tinha o seu pessoal. Além de um núcleo forte de capangas, possuía a seu serviço moços limpos: estudantes, pequenos empregados, aspirantes a empregos — gente disposta ao vivório, iludida com promessas de empregos e promoções.
Havia em Canto Ribeiro um pouco de especulação e um pouco de sinceridade. Supondo-se orador, julgava-se com um alto destino político e não pejou de ser o orador de praça pública, para chegar aonde queria. Os meios...
A sua oratória era feita de berros, de mugidos e rugidos; e, além de qualquer apuro literário, faltava também a ela uma voz musical, numerosa, com inflexões. Ele só sabia berrar e, quando se cansava, guinchava.
A sala era vasta, mas não pode conter todos os manifestantes. Uma grande parte ficou pela escada e pelo jardim.
Havia de toda a gente; pobres homens desempregados, que vinham ali ganhar uma espórtula; vagabundos notáveis, entusiastas sinceros, curiosos e agradecidos. Todas as cores. Os vestuários eram os mais engraçados e inesperados. Havia um preto com uma sobrecasaca cor de vinho, calçado com uma bota preta e outra amarela; um rapaz louro, um polaco do Paraná, com umas calças bicolor, uma perna preta e outra cinzenta; fraques antediluvianos, calças bombachas, outras a trair a origem reuna, coletes sarapintados.
Vendo essa gente miserável, esfaimada, degradada física e moralmente, o que se sentia era um imenso nojo pela política, pelo sufrágio universal, pelas Câmaras, pelos Tribunais, pelos Ministros, pelo Presidente, enfim, pela poderosa ilusão da Pátria, que criava, alimentava e se aproveitava de tamanha degradação
Toda essa gente comprimiu-se, arredaram-se os móveis e Canto Ribeiro começou a falar. Berrou vinte minutos, dizendo as mais sórdidas banalidades sobre o povo, a República, os méritos de Sofônias, etc.
Numa, que estava ao meu lado, ouvia-o atentamente e como que senti nele que havia uma ponta de inveja pela facúndia do orador.
Era conhecido como "silencioso" e, tendo recebido aquela intimação do chefe para discursar, não era difícil adivinhar o seu estado d?alma.
Havia no seu olhar muito espanto, muita admiração pela torrente de banalidades que Canto Ribeiro berrava; e, de onde em onde, como se adivinhava que Numa dizia com os seus botões: Ah! Se eu fosse como ele!
O tribuno deu por finda a arenga e Sofônias ia preparar-se para responder, quando uma moça saiu do meio das outras e começou a pronunciar um discurso.
Fiquei admirado, não muito do seu discurso, mas da sua elegância, do seu langor, da tração fortemente sexual que ela possuía. Ao meu lado, o genro de Neves Cogominho perguntou ao Bastos quem era:
— É a filha do Henocanti, a Clódia. Há muito que "cava" uma cadeira para o pai. O Castrioto podia já ter arranjado isso, mas está "cavando" a filha primeiro...
A moça falou ainda um pouco e, no olhar mortiço de Sofônias, ao influxo do capitoso da dama, houve um brilho desusado. Acabou de falar e ofereceu-lhe um bouquet de flores.
Sofônias respondeu a Canto Ribeiro, dizendo ser simplesmente como um "muezzin" da Catedral da República, cuja voz estava sempre pronta a lembrar aos fiéis os seus deveres para com a República; e à Clódia, que se enternecia por aquela homenagem da gentil patrícia, cujas belezas ofuscava as famosas Lucrécia Borgia e outras. Bastos não deixou de dizer baixinho ao colega:
— Esta é demais.
Por fim foi oferecido "chopps" aos circunstantes. Quase houve briga, quase houve bofetadas. As mãos passavam por cima das cabeças, por entre os corpos, e os copeiros tinham um imenso trabalho em servir toda aquela gente sequiosa. Canto Ribeiro vendo que a coisa podia degenerar em conflito, pois já havia um bate boca em um canto, resolveu levar o seu pessoal. Gritou:
— Vamos, rapazes! Os bondes vão partir!
Foram-se a um tempo e na sala, encostado ao balcão improvisado de "buffet", ficou unicamente Barba-de-Bode. Encostou-se e disse com gloriosa satisfação:
— Sim, agora posso beber. Não sou desses "avançadores" que só vêm às festas para beber.
Em seguida, voltou-se para o copeiro e fez familiarmente:
— Ó amigo! Dá-me aí uma coisa dessas!
Sorveu o copo quase inteiramente de um trago, e foi cheio de loquacidade para os copeiros que disse:
— Vocês sabem, eu cá sou de casa. Não preciso de manifestação para entrar... O "homem" é meu só... Todos esses tipos são engrossadores.
Bebeu o resto que estava no copo, e pediu:
— Mais um "chopp".
E continuou loquaz e jovial, jovialidade e loquacidade a que não era estranho o álcool que já engorgitara durante o dia todo. Continuou:
— Quando aquele velho caduco do Mendes (o antigo Presidente) lhe andou fazendo fosquinhas, quem é que vinha aqui? Um ou outro. Eu cá não, sempre estive a seu lado. Mais um "chopp".
Os copeiros serviram e ele aduziu sentenciosamente:
— Esses homens são muito adulados, quando estão por cima; mas, logo que rosna qualquer coisa, tudo foge. É isto. Vamos beber!
Falando e bebendo, Lucrécio sorveu mais uma dúzia de "chopps" e quando ia pelo décimo terceiro, passou pela sala o Sofônias. Barba-de-Bode correu ao encontro do Senador:
— V. Exa. dá licença?
— Que é que você quer, homem? Já bebeste como o diabo, hein?
— Alguma coisa. Queria agora beber à sua saúde.
— Deixa isso para mais tarde. Agora...
Lucrécio deitou sobre o poderoso político um súplice e este não achou mau dar aos seus pares uma demonstração de tolerante bondade pelos humildes. Sofônias disse bonacheiramente:
— Bem! Vá lá!
— Sr. Senador Sofônias — começou Lucrécio. — Neste momento solene...
E parou como se buscasse palavras, termos, imagens. Esteve um instante calado, com a boca fortemente fechada: houve um imperceptível movimento nos músculos na sua garganta de quem engole alguma coisa. Por esse tempo, começaram a vir da sala convivas, damas e cavalheiros, curiosos de travarem conhecimento com a eloqüência de Lucrécio.
Ao ver tanta gente à sua roda, animou-se e continuou:
— Sr. Senador...
Mas não pode acabar. Veio-lhe um forte vômito e, antes que pudesse correr à janela, despejou-o ali mesmo, borrifando o peitilho do famoso senador e a barra das saias daquelas grandes damas. Lançou, lançou tudo o que tinha no estômago.
Eu estava na sala desde que Lucrécio começara a beber e de lá não arredei pé. O triste final do discurso do "capanga" causou em algumas pessoas indignação e noutras hilaridade. Entre aquelas, houve um que não disfarçou sua reprovação. Dizia ele:
— Tá bebo... Chama aí um poliça... Mete ele no xadrex.
Olhei o homem que me pareceu um tipo acabado de matuto. Tinha um ar de tabajara e umas roupas amarrotadas no corpo. Perguntei a Numa quem era.
— É o Dr. Chaveco, chefe de Polícia.
Reparei ainda o homem. Que triste chefe de Polícia! Tinha um ar de vítima de conto do vigário;
Houve um grande esforço por parte dos presentes para que ele não levasse preso Lucrécio e foi preciso a intervenção pessoal de Sofônias para dissuadi-lo completamente. Convenceu-se, apanhou o chapéu, tomou sua bengala, sem castão nem ponteira, despediu-se:
— Tá bão.... Inté manhã!
Aquele ar bonachão do homem, aquele seu aspecto paternal e simplório, tão em contraste com as suas terríveis funções longe de provocarem a mofa, que eu via estampada em todos os rostos, fizeram-me encarar com ternura o país, em que estava, cuja capital tinha a sua segurança entregue a mão tão débeis e, a julgar pelo aspecto, tão doces.
Recordei-me, não sem calafrios, da famosa 3ª Seção da Chancelaria Imperial da minha pátria, aquela terrível polícia secreta, que seguia um a um os habitantes do Império com seus processos inquisitoriais; lembrei-me também das suas terríveis prisões, das minas da Sibéria, dos cossacos...
O Brasil surgiu-me, então, como um país maravilhoso, liberal por fraqueza, mas liberal; e eu perdoei um instante tudo o que presenciara nele de ridículo e inferior;
As minhas reflexões foram interrompidas por uma nova entrada do chefe de Polícia. Na sala de visitas já se dançava, eu estava na sala de jantar, a um canto fumando e quase na minha frente, na outra extremidade, algumas senhoras cercavam a esposa de Sofônias. O Dr. Chaveco foi entrando, batendo com a bengala no assoalho, ao jeito de um pastor bíblico:
— D. Lalá — disse ele — mi esqueceu uma coisa...
— Que é, Doutor?
— A mode que não levei uns rebuçados pros meninos.
— Pois não, Doutor.
— Tem artéa, siá Dona? O Zeca tá cum tosse.
— Não, Doutor. Quer de hortelã?
— Serve, Dona.
A senhora começou a preparar o pequeno embrulho e eu não sei por que quis travar relações com o Dr. Chaveco. Cheguei-me a ele e fui logo dizendo:
— Então Doutor, já vai?
— Já moço; Drumo sempre c?os pintos. É mais bom pra saúde.
— Mas, no seu cargo, nem sempre pode...
— Quá, moço! Tenho os auxiliá que faz minha vez.
A dona da casa voltou com o embrulho; Chaveco agradeceu, levantou-se, despediu-se e disse-me:
— Qué i cô nós, moço? Não paga nada. Intomove tá na porta.
Embora as minhas finanças estivessem em bom pé, lobriguei logo naquela relação com o chefe de Polícia um meio de ganhar dinheiro mais tarde. Na rua, entre outros, o seu automóvel esperava. Sem esperar que o ajudante abrisse a portinhola, Chaveco a foi abrindo e convidou-me:
— Trepe moço !
Entrei no veículo e logo que o chefe de Polícia se pôs ao meu lado, o motorista lhe perguntou para onde queria ir.
— Pra onde vosmecê qué i, ?
Disse-lhe e o automóvel rodou pela rua deserta, cujas palmeiras, de um ou outro lado, dormiam sob o lençol de um belo luar.
Estivemos um pouco calados e, após, ele me perguntou:
— Como é seu nome, moço?
Disse-lhe eu então o meu nome por inteiro.
— Ué! gentes! — fez ele um risinho simiesco — Que nome! é de santo?
Expliquei-lhe então que era russo e o meu nome era, portanto, russo. Ficou muito espantado e afirmou-se naquele seu falar especial, que eu falava muito bem o português.
Afogada no luar, a cidade oferecia um aspecto de paz serena e tranqüilidade satisfeita. Pelas ruas, não havia ninguém e aquelas casas inteiramente fechadas, mudas, tranqüilas, enchiam-nos de uma satisfação suave. Era como se esquecêssemos que, dentro elas, havia muita angústia, muita tormenta, muita paixão e muito ódio. Verificando isso, tínhamos vontade de que todos nós, toda a humanidade, viesse a dormir assim, pelo séculos em fora...
O doutor Chaveco vinha calado ao meu lado, mas não dormia. Os seus olhos pequenos e castanhos brilhavam muito e como que sondavam a noite. De repente senti que estremecia. Não me pude conter.
— Que é doutor?
— A mode que lá em cima anda uma coisa branca.
Olhei a casa indicada e nada vi, mas Chaveco afirmara que vira e até se benzeu:
— Credo! Padre, Filho, Espírito Santo.
Acabamos a viagem conversando sobre coisas de polícia. De indústria, levei-o para esse terreno; mas aí, como em tudo mais, ele era de uma simplicidade evangélica.
— Quá retrato, Doutor! Quá , nada! Se arguém viu, o criminoso pode sê preso, mas se não viu — quá — só se outro vié contá.
Não havia meio de demovê-lo daí. Expus-lhe tudo o que sabia de métodos de investigação; mas o homem não saía da sua convicção:
— Quá! Se arguém...
Separamo-nos muito bons amigos e eu pude dormir as últimas horas da noite na minha plácida chácara dos subúrbios.
Eu morava numa eminência e a minha casa ficava sobre o "plateau", olhando o poente. À tarde. sob alguma das muitas mangueiras, que me protegiam a casa do calor, eu gostava de ver o sol deitar-se, sumir-se por entre as nuvens de púrpura e ouro; de manhã, eu me erguia em boa hora, regava as minhas couves e lia alguns autores da minha reduzida biblioteca.
Às vezes, pelo correr do dia, eu passeava pelos arredores da minha propriedade e surpreendia a espaços aquela vida dos subúrbios da capital, feita da estratificação de todas as vidas da cidade.
A minha casa velha casa de estilo roceiro, feia a não mais poder, mas sem o casquilho antipático de suas vizinhas modernas e muito mais ampla e ensolarada que elas.
Tinha uma velha preta, que me cozinhava os pratos nacionais, a que se afizera o meu paladar russo, sem violência nem repugnância. Eu comia com prazer o feijão e a carne seca; até ousei entrar pelo vatapá e pelo caruru.
Além da cozinheira, tinha um português, que me servia ao mesmo tempo de chacareiro e de jardineiro; e, em companhia desses dois serviçais, a minha vida nos subúrbios corria mansa, sossegada e obscura.
Tendo chegado muito tarde, na noite em que voltei da manifestação a Sofônias, ergui-me do leito dia alto e, quando abri as janelas amplas e altas do meu quarto, o sol passou forte através delas, com uma fúria de protesto e indignação.
Nesse dia não reguei as minhas couves, mas, antes de almoçar, fui dar uma vista d?olhos na horta, cujo viço o meu olhar demorou-se na concentração.
Depois almocei, li os jornais e o dia enchi-o lendo e pensando em coisas graves e sérias. Não havia em mim nenhuma necessidade de movimento, mas não amanheci da mesmo forma na manhã seguinte. Despertei com os músculos a pedir exercício e com os sentidos a pedir impressões outras que não aquelas mesmas que recebia sempre no meu interior.
Logo após o almoço saí, dirigi-me à estação, comprei o necessário bilhete e o trem correu em direção à "gare" da Central.
Li no trajeto os jornais; não tinham nada de interessante, como é de uso nos nossos jornais; mas se estendiam muito sobre um crime misterioso. Como esse crime me houvesse permitido realizar uma das minhas curiosas proezas, vou narrá-lo em poucas palavras.
Em um dos morros da Saúde, morava um velho português que, em tempos fora agiota; segundo corria, vivia de emprestar pequenas quantias aos marítimos, mediante juros exorbitantes.
Uma manhã, custando muito a abrir a porta, a coisa causou desconfiança à vizinhança, que do fato deu conhecimento às autoridades. Arrombada a porta, ele foi encontrado amordaçado e morto a punhaladas. As notícias todas não concordavam na denominação da arma; umas, chamavam "adaga"; outras, "kandjar"; e ainda em outras a arama era chamada de cimitarra.
O instrumento do homicídio foi encontrado junto ao cadáver e outro vestígio do assassinato não havia.
Não sei por que associei a imagem simplória do chefe da Polícia com tão misterioso crime e desembarquei tendo as duas uma ao lado da outra, prestes a combinarem-se em alguma coisa nova.
A minha tenção era vagabundear pela cidade, percorrê-la ao acaso, tomando um bonde aqui, saltando ali, satisfazendo a necessidade de movimento que havia nos meus músculos e de impressões que me havia nos meus nervos
Era pouco mais de meio dia quando saltei e, antes de me por a vagar, quis tomar alguns "chopps".
Entrei numa casa que eu freqüentava muito ao tempo em que vivia constantemente na cidade. Ficava no centro comercial e era freqüentada por comerciantes e gente de negócios, sobretudo pelos estrangeiros.
Não tinha fartos conhecimentos no Rio e eu mesmo tinha evitado faze-los, para melhor dar aos meus planos. Uma amizade é sempre um cúmplice da nossa consciência e os cúmplices atrapalham.
Mal tinha abancado à mesa forrada de couro, quando se me acercou um conhecido. Chamava-se Gustav Kordenjold, era irlandês e falava russo. De profissão, sabia-o ser dispenseiro de uma galera norueguesa, a "Selma", um lindo barco de três mastros de belo e airoso ar, que se ocupava de trazer de Ragoon para o Rio o arroz excelente da Ásia.
Eram longas e afanosas viagens de quase meio ano, em que a "Selma", com o seu velame alto e amplo, ora dormitava sobre as ondas, ora corria com o vento ao capricho dos temporais de dois grandes oceanos, sem contar as arribações forçadas a pontos obscuros de ilhas e continentes.
Mesmo assim, tal era a barateza do motor, tal era a exigüidade de gastos com salários da tripulação, as viagens eram rendosas e a "Selma" deixava sempre para o seu armador em Transoë, na hiperbólica e glacial Noruega, grandes lucros que o trabalho das gentes dos países quentes lhe dava.
Gustav Kordenjold falou-me prazenteiramente e eu o convidei a partilhar dos meus "chopps". Sentou-se e falou-me em russo. Conversamos muito sobre vários assuntos e ele veio afinal falar-me a respeito de sua viagem.
— Levamos quase oito meses. Na altura se Singapura, apanhamos um temporal de oito dias e só fomos arribar nas Filipinas. Quase não nos podíamos ter em pé; os mastaréus vieram abaixo, o leme perdeu-se e, quando o tempo amainou, foi um imenso trabalho para colocar os sobressalentes. Estou aborrecido dessa vida... Se arranjasse uns quinze mil francos, voltava para a Noruega e ia estabelecer-me com uma serraria. Tu que tens tantos conhecimentos por aqui, podias bem arranjar-me um negócio em que ganhasse essa quantia... Estou deveras aborrecido! Não posso mais!...
Não sei por que veio à lembrança o crime que os jornais noticiavam e lhe disse:
— Podia arranjar-te o dinheiro, mas o meio é um pouco arriscado...
— Como?
— Não leste nos jornais o crime que houve, ontem à noite?
Gustav teve um pequeno estremecimento, mas logo disse naturalmente:
— Não li; sabes perfeitamente que mal falo o português. Mas que tem o crime com a minha necessidade de dinheiro?
— Ouve: estou em boas relações com o chefe de Polícia daqui. Anda muito em moda as deduções com verniz científico para a descoberta dos crimes. Vou a ele; arranjo umas de modo que te acusem, os esbirros te prendem; tu negas; mas as minhas deduções acusam-te, o chefe fica contente, dá-me alguns contos de réis, eu t?os passo. Sais absolvido e vais para a Noruega. É questão de alguns meses de repouso na Detenção. Queres?
Kordenjold esteve a pensar e disse:
— Aceito. Tanto mais que esta noite não sai de bordo.
Contratamos bem a coisa e eu saí em demanda do chefe de polícia na sua respectiva repartição.
Não me foi difícil falar ao Dr. Chaveco. S. Exa. não tinha chegado e eu fiquei na antecâmara do seu gabinete. Ao entrar, ele deu de ombros comigo e veio logo falar-me:
— Oh! "Seu" barão!
Julguei que ele confundisse com outro, mas não havia tal. Os brasileiros estão sempre dispostos a ver no estrangeiro bem vestido um fidalgo; e nos pobres, um animal desprezível. Como que compreendeu o meu embaraço e aduziu:
— Não tá alembrado que viajamo junto no intomóvel?
— Sim, Exa.; mas não sou barão.
— A mode que pensei. Que há de novo?
— Venho a respeito do crime.
— Ah! O assucedido na Saúde?
— Sim, Exa.
— Que pretende fazê?
Expliquei-lhe, entrando com ele no seu gabinete, as minhas idéias. Seguiria a diligência, tomaria nota dos mais ínfimos detalhes e aplicaria o método do doutor Sherlock Holmes, de Londres.
— Vancê cunheceu ele?
— Muito.
Por esse tempo, ele se havia sentado à sua ampla mesa e delegados e mais policiais cercavam-no de todos os lados.
— "Seu" doutô Praxedes — disse a poderosa autoridade — tá aqui o dotô... Como é?
— Bogoloff — disse eu.
— Tá aqui o dotô Bogoloff que acunheceu o Cheloque em Londres. Ele vai acompanhá e vê se descobre os assassino do assucedido na Saúde.
O dr. Praxedes olhou-me com certo desdém, e quis objetar alguma coisa; mas o chefe confirmou a ordem e eu segui.
Ainda não tinham feito a primeira inspeção, de forma que pude acompanhá-la. A minha lábia desarmou a repugnância dos policiais profissionais e lá cheguei na melhor camaradagem com eles.
Tomando aquele ar, ao mesmo tempo de perdigueiro e de inspirado, de que fala Conan Doyle, ao tratar das pesquisas do seu herói, andei apanhando pontas de cigarro; com o auxílio de uma lente examinei o assoalho e, por fim, dei-me por satisfeito, depois de todos os trejeitos, que me vieram à cabeça. A arma de fato era esquisita; absolutamente, não a podia denominá-la e, muito menos os policiais. Fui para casa e apresentei o meu relatório, em que: tendo em vista a quantidade de potassa contidas nas cinzas dos cigarros encontrados, denunciadoras de fumo filipino; a fibra do tecido, com que fora amordaçado o agiota, de natureza perfeitamente malaia; a arma, que era um "kriss" malaio; a proporção entre as pegadas encontradas e a altura do homem; e os fios dos cabelos que encontrara — o assassino devia estado em alguma das ilhas do arquipélago malaio, ter um metro e oitenta de altura e ser europeu, pois não podia ser dessa raça oceânica, porquanto os cabelos louros denunciavam um origem européia.
O meu relatório foi acolhido com os maiores gabos pelos conselheiros do chefe e, indagando-se daqui e dali, soube-se da entrada da galera "Selma" e foi entre a sua tripulação que se procurou o criminoso.
Gustav foi o mais fortemente suspeitado, porquanto eu havia organizado os indícios de forma a recaírem sobre ele todas as suspeitas.
Ele se defendeu valentemente, dizendo que não viera à terra naquele dia; mas um indício surgiu forte contra o finlandês; a arma, o "kriss", era dele, pois quase toda a tripulação o atestou.
Restava um álibi, mas um marinheiro contou que ele viera disfarçado ente os estivadores e entre a meia noite e uma hora da madrugada voltara, regressando mais tarde à terra.
Continuou sempre à negar, mas as presunções eram muitas e ele foi pronunciado, sendo mais tarde absolvido.
O chefe deu-me dez contos de gratificação e, logo que Gustav saiu a prisão, eu lhe dei mais da metade dessa quantia.
Confessou-me que havia sido ele e, por um instante, senti-me de fato Sherlock Holmes
Lima Barreto
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa