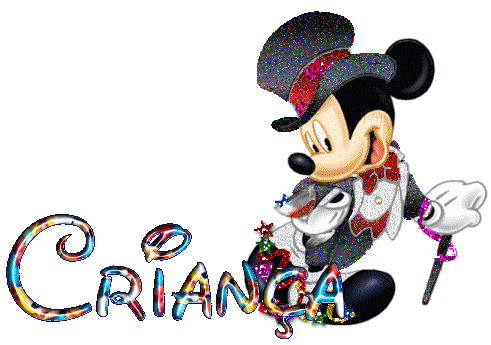Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




Discurso de Recepção
Senhor Guimarães Rosa:
No dia em que me convidastes para receber-vos nesta Casa deixastes claro que a incumbência não me era oferecida como fácil galanteria de concorrente à minha própria eleição.
As razões do vosso convite eram outras, mais substanciais e profundas: provínhamos ambos, pelas nossas origens, daquelas terras largas do sertão mineiro; mundão de léguas de campos, chapadas, catingas e rios; domínio do sol e dos astros sobre a planura, cortado sempre por escassos, silenciosos cavaleiros e suas boiadas.
Nossa zona sertaneja de Cordisburgo a Paracatu é presa a si mesma mais pelos rumos dos rios e os desdobramentos dos tabuleiros do que pelos traços dos caminhos, ou os marcos das povoações. Forma um quadrilátero irregular, que começa à margem esquerda do Rio das Velhas, cruza o São Francisco, atinge a banda direita do Parnaíba e se derrama para o norte, até esbarrar nas douradas areias do Paracatu.
Pouco acima de Paraopeba, deixando à mão direita o Rio das Velhas, o antigo Guaicuí dos índios, são os campos gerais desenrolados por Curvelo, Corinto, até Pirapora, já no São Francisco, quase no vértice do ângulo do seu encontro com o grande afluente. Mas a nossa zona transpõe o São Francisco bem mais embaixo; pega o Rio Indaiá com a sua Estrela e as suas Dores, cobre o Abaeté e a velha terra de D. Joaquina do Pompéu; resvala o Triângulo pelo curso do Paranaíba, englobando Patrocínio, Coromandel, Monte CarmeIo, Estrela do Sul, Abadia dos Dourados e transpõe o Rio Urucuia, o Rio do Sono, o Rio da Prata, até fechar-se na isolada, na orgulhosa, na douta Paracatu do Príncipe.
Homem, cavalo e boi se integram naquela vastidão unida e, no entanto diversa; conjunta pelas semelhanças e contrastes. Securas de retorcidos chapadões e frescuras de buritizais nas veredas; paus de espinho e brancos véus-de-noiva; onças e catingueiros; gaviões e siriemas; unha-de-gato e alecrim-do-campo: bravura e doçura em toda parte. Assim o homem e a mulher sertanejos, bravos e doces, como Riobaldo e Diadorim, de Guimarães Rosa; como Pedra Barqueiro e a Esteireira do primeiro Afonso Arinos.
A paisagem humana e social de Minas se distribui, também, mais pelos rios do que pelas estradas. As bacias fluviais contornam e desenham a nossa realidade histórica.
Ao sul, a bacia do Sapucaí guarda o perfume colonial da idade do ouro, nas velhas crônicas de Ouro Fino, Campanha, Passa Quatro, São Gonçalo e Santa Rita. A sudeste, a bacia do Paraíba relembra a Minas imperial dos cafezais, ligada à província fluminense, com seus barões barbados e os seus palácios rurais, entre palmeiras. A leste, a bacia do Rio Doce é a Mata republicana, a Mata das igrejas de tijolo sem ornatos, autoritária e eleitoreira, terra dos coronéis municipais e dos caudilhos federais, como Carlos Peixoto, Arthur Bernardes, Raul Soares. Ainda a leste, a bacia florestal do Mucuri é a Minas desbravadora de Teófilo Ottoni, sempre à procura do mar pelos lindes do sul baiano e norte capixaba. Mais para cima, topamos a bacia do Jequitinhonha e do Rio Pardo, que nós mineiros chamamos o Nordeste, e que tem realmente muito de nordestina para os lados de Salinas, Jequitinhonha, Joaíma e Pedra Azul. Depois da nossa bacia central são-franciscana, que é a maior do Estado, deparamos no extremo oeste as bacias do Rio Grande e do Paranaíba, que juntas formam o Triângulo, império do zebu, com as suas metrópoles ricas, tributárias de São Paulo.
O ouro e o diamante se colhiam e se apuravam nas catas e datas de beira-rio; o café cobria os morros desmatados junto às torrentes; o gado alçado se criava às soltas nas gratas e socavões, à fímbria das águas móveis.
A nossa civilização seguiu vagarosa, a pé e pata, pelas margens dos cursos d'água. A rude bota de couro d'anta do bandeirante e do minerador, o passo tardo do boi e do cavalo do vaqueiro entraram e se espalharam junto às águas, pelos tempos. Mineiros somos nós, homens de beira-rio, e é por isto que sinto, na sua realidade mágica, essas criaturas são-franciscanas, cujas vidas, cujas almas, a força do vosso engenho veio revelar ao Brasil e, já agora, à cultura contemporânea.
Vosso poder criador foi descobrindo, na sucessão das obras-primas, um mundo de símbolos, que testemunham realidades insuspeitadas da vida e do espírito. A medida em que estas descobertas corajosas, de inspiração e de estilo, impunham as suas expressões e aluíam as defesas dos preconceitos e das desconfianças, vossa glória foi se impondo, como se impuseram a dos músicos que captaram as desapercebidas combinações de sons; a dos pintores, que ofereceram as outras visões do mundo; a dos escultores, que libertaram a matéria das aparências naturais.
Escritor ligado à terra, às limitações temporais e espaciais de uma certa terra brasileira, não sois, no entanto, um escritor regional, ou antes, o vosso regionalismo é uma forma de expressão do espírito universal que anima a vossa obra e, daí, sua repercussão mundial. Sem dúvida exprimis o social – isto é, o local – nos vossos livros e, neste ponto fostes, como nos demais, um descobridor. Manifestastes um aspecto de Minas Gerais que o Brasil não conhecia: a vida heróica; o heroísmo como lei primeira da existência, na guerra e na paz, no ódio ou no amor.
Tivestes, é verdade, um antecessor, pelo menos, que conheceu e sentiu o lado heróico da vida sertaneja: o autor de Pelo Sertão.
Mas o sentimento do heróico em Afonso Arinos é sempre individual; dos indivíduos indistintos cria tipos de herói, como o vaqueiro Joaquim Mironga; de episódios banais extrai narrativas heróicas, como a do "Assombramento". Mas a paixão do heroísmo se apresentando nas pessoas isoladas torna-se lírica. Na vossa obra, ao contrário, perpassa uma espécie de frêmito coletivo e trágico da vida heróica; não são homens isolados, são bandos e multidões, não são destinos, mas acontecimentos que, sem ser sobre-humanos, estão acima dos homens. O tipo se transforma em símbolo, o episódio vira gesta e a narrativa assume os contornos da epopéia.
Mas esse regional-social, que se universaliza pela expressão simbólica, não é talvez a parte mais reveladora da vossa obra. Ela se esconde no fundo das almas, nos choques dos anjos e demônios que nos habitam e cujas lutas, dentro dos vossos personagens, explodem como os raios, rugem como os ventos e se despenham como as enchentes da natureza.
Não há na vossa criação espaço aberto ao inconsciente. Ao contrário, só uma consciência sempre vigilante poderia surpreender e retratar, como fazeis, a realidade simbólica. Nos momentos mais impenetráveis da vossa obra não encontramos nunca o choque do irracional contra o racional, do inconsciente contra o consciente; mas, sim, e sempre, do simbólico contra o aparente.
Na verdade o símbolo, ainda mesmo na criação artística, é uma forma misteriosa de revelação. Sabemos que a palavra grega indicava a aproximação de duas partes divididas de um mesmo objeto, e este é o sentido que nos ficou: a parte encoberta e a parte descoberta do real. O símbolo difere do signo: o primeiro representa, o segundo indica; da mesma maneira o simbolismo difere da ficção. A ficção não passa da suposição do que não houve, mas poderia haver. O simbólico oferece o irreal como um aviso, um ensinamento, uma síntese anunciadora. Nada de mais exemplar, didático e total do que o simbólico, que aliás não devemos confundir com a obscuridade. O símbolo é em si mesmo claro; obscuras são, às vezes, as suas relações com a verdade encoberta.
Nenhum movimento intelectual e espiritual usou com mais força e proveito o poder do símbolo do que o Cristianismo, sobretudo o Cristianismo primitivo. Em Roma, nos muros apagados das igrejas protocristãs, nos corredores das catacumbas, sinto de súbito a força da fé ao deparar as cores esmaecidas do peixe que é o Cristo, da ovelha que são os eleitos, do bode que são os condenados, e das lâmpadas de argila. A representação simbólica transmite-me uma espécie de emoção instantânea, capaz de trazer à tona da alma as correntes fundas do amor e da aceitação. O símbolo é a chicotada do farol na treva; será como a voz da presença humana, que chega aos ouvidos do caminhante extraviado.
O simbolismo religioso e espiritual atua por meio de formas alusivas e consagradas; em plano menos elevado, o simbolismo patriótico exerce sua influência por meio de objetos convencionais: a bandeira, o escudo, as letras iniciais. No plano estético-literário, o símbolo pode obviamente aparecer por meio das palavras.
Não sou filólogo; longe disto, confesso-me um mau sabedor da nossa língua, pois a estudei tarde, e muito mais nos textos literários compostos, do que nas decompostas análises científicas.
Esta revelação que eu diria modesta (não fosse a modéstia atitude tão estranha à imagem que de mim habitualmente se apresenta) é, no entanto, compensada por uma espécie de segurança, saída não sei se do tédio de começar novos rumos de estudos, se da convicção de ser tarde demais para fazê-Io: a segurança de que nem sempre, escrever certo é escrever bem; a qual eu levaria mais longe na admissão de que, muitas vezes, escrever errado não é escrever mal.
Quem vai, hoje, discutir se escreveis certo ou errado? Quem vai disputar o acerto clássico de linhas em um monumento gótico ou barroco?
Como falar em acerto e erro diante do vosso trabalho estilístico, que é o maior esforço de lavor literário que o Brasil já conheceu na história das suas letras?
Pode-se falar, isto sim, em sucesso ou insucesso; em idoneidade ou não do instrumento lingüístico para exprimir o que quis o autor; em beleza ou boniteza de forma: mas nunca em erro ou acerto, que são, no caso, categorias extravagantes. A opção está aberta, mas é puramente subjetiva, pois envolve só a questão de gosto, por sua natureza ilimitada e indefinível.
Uma coisa me parece certa, certíssima, e peço licença para anunciá-la frente aos mestres da língua que aqui vejo, um Aurélio Buarque de Holanda, um Augusto Meyer: nada existe de popular em vosso estilo. De resto, os estudos procedidos a respeito pelos competentes confirmam plenamente o que venho de dizer. Sem títulos para tentar uma crítica estilística de vossa obra, procurarei, no entanto, resumir sobre vosso estilo as impressões que ele me sugere como leitor, e que se vêm acentuando, à medida em que, com o progresso dela, de Sagarana a Tutaméia, as vossas responsabilidades de construtor vão aumentando vossa coragem e vossa confiança nos materiais e nos instrumentos com que construís.
Não me parece possa haver comparação entre o vosso e o estilo de Mário de Andrade, como algumas vezes se tem feito. A renovação lingüística que Mário se propôs era mais imediata, impetuosa e polêmica; em uma palavra: destruidora. O grande polígrafo tinha em vista, ao lado da criação própria, demolir, arrasar as construções condenadas da falsa opulência verbal ou do academicismo tardio. O trabalho de demolição se faz às pressas e, no caso de Mário, com uma espécie de consciência humilde do sacrifício que impunha à própria durabilidade. No vosso caso, a experiência, pela época mesma em que começou, foi sempre construtiva. Não tendes em vista derrubar nada, desfazer nada de preexistente, mas levantar no espaço limpo. Não sois o citadino Mário, que precisava dinamitar o São Paulo burguês para erguer no chão conquistado à Paulicéia desvairada. Sois o sertanejo Rosa, conhecedor dos grandes espaços e forçado a tirar de si mesmo, no deserto, os antiplanos e os imateriais da construção.
Devemos respeitar a Mário pelo propósito de sacrificar-se na destruição. Podemos admirar e partilhar em vós a esperança construtora. Não esqueçamos que os chapadões do Brasil Central permitiram, nas artes plásticas, a maior aventura da liberdade formal do mundo moderno, que é Brasília. Ali nada se demoliu, tudo se construiu, no campo livre.
Despertastes as inusitadas palavras que dormiam no mundo das possibilidades imaturas. Fizestes com elas o que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer fizeram com as linhas e os volumes inexistentes: uma construção para o mundo, no meio do Brasil.
Tudo vai se formando, se conformando, na vida de relação entre os homens, segundo as condições da mudança. Quando ela é mais intensa ou mais rápida, como no nosso tempo e no nosso país, suas tentativas e experiências se acentuam e acumulam de maneira dramática. Por isto mesmo, no mundo de hoje, a sociologia jurídica vê, no direito, menos um sistema de normas do que um processo de ajustamento. Novas concepções e novas regras vão surgindo, que correspondem à face antes velada da vida.
Na arte é o mesmo que se dá. As sondagens e descobertas feitas nas profundezas do eu e do nós vão conduzindo as expressões, em todos os seus reinos, que só aos que ficam na superfície – realidade parcial – parecem desligadas da realidade total.
Mas o nós e o eu, se, por um lado, são universais, são por outro temporais e espaciais. Eis por que, quando as expressões artísticas renovadoras são poderosas e autênticas, a vida condicionada e própria que lhes deu origem encontra logo a sua repercussão mundial.
Por isso mesmo, a verdade das profundezas nelas contida toca em toda parte aos que sentem a fundo a realidade contemporânea, antes mesmo que, nos seus países de origem, elas tenham sido aceitas pelo convencionalismo superficial.
Voltemos à comparação de há pouco. A arquitetura de Brasília e a literatura de Guimarães Rosa provocam a atenção das elites intelectuais do mundo, quando ainda podem encontrar desconfianças retardatárias no seu próprio país.
Vosso prestígio de escritor é, com efeito, hoje, como a arquitetura do Planalto, uma das conquistas mundiais da cultura brasileira.
A transposição dos vossos livros para outras paragens já se deu em alemão, em inglês, em francês, em italiano – enquanto aqui reclamam alguns piadistas que eles sejam transpostos em português. Não ferirei a vossa delicadeza com a citação de textos de apreciações que sobre os vossos livros foram escritos por autorizados intérpretes de tantas culturas. Apenas, usando no seu forte e autêntico significado um lugar-comum – e Montaigne já mostrava o valor do lugar-comum quando entendido na sua original pureza – direi que foram apreciações consagradoras.
No Brasil, igualmente, tudo o que conta em matéria de crítica literária – um Alceu Amoroso Lima, que ainda há pouco publicou penetrante artigo sobre o vosso isolamento nos cismos; um Afrânio Coutinho, um Antônio Cândido, um Paulo Rónai; o saudosíssimo Cavalcanti Proença, entre outros – ensinaram ao leitor brasileiro a importância, que se pode honradamente chamar sem precedentes, da vossa obra.
Eu que vos falo não tenho títulos para opinar em tão alto conselho; sigo os mestres. Mas, como leitor, vos digo em sã verdade, que, entre os meus patrícios, posso ter encontrado vocações literárias tão altas como a vossa, mas nenhuma mais alta.
Sucedeis a um querido amigo meu, João Neves da Fontoura. Dele já disse o que me competia em trechos como o que tivestes a generosidade de destacar. No vosso discurso, como habitualmente procedeis com os vossos personagens, entrastes por dentro da personalidade moral, afetiva e intelectual de João Neves. Mostrastes, como também fazeis costumeiramente, o homem sofrido e inquieto que existia no fundo do orador brilhante; conseguistes, sem eloqüência, fixar conceitos sobre a eloqüência que também penetram por dentro a arte tão erradamente considerada fácil da palavra. Nada ajuntarei ao estudo que fizestes do grande homem público, a não ser a evocação de uma frase dele a mim, a vosso respeito. Certa vez, falando-me do seu chefe de gabinete, disse-me o ministro do Exterior: "O Rosa é o mais sutil dos mineiros; ele não deslinda nenhuma crise, porque evita que elas se formem".
Vossa cadeira na Academia é das poucas que se beneficiam, desde a fundação, de um destino literário harmonioso. Ela é, pelo seu patrono Álvares de Azevedo e pelos seus sucessivos ocupantes, Coelho Neto, João Neves e Guimarães Rosa, essencialmente a cadeira da palavra. Neste sentido, é contínua a linha do seu destino cultural. Mas a palavra pode ser entendida de duas maneiras: traduzidas pelas expressões latinas de verbo e grega de logos.
Como verbo, vossa cadeira é representada por Coelho Neto e João Neves, como logos por Álvares de Azevedo e por vós. Na verdade, desde Heráclito, a idéia de logos é diferente da idéia de verbo. No verbo, a palavra é o instrumento de expressão do pensamento; no logos, segundo os intérpretes do filósofo, a palavra é a razão profunda que movimenta e dirige a mutação incessante da realidade; a revelação de uma razão superior que, dizem os mesmos intérpretes, unifica a diversidade e assegura a continuidade.
Por isto mesmo é que, no plano religioso, se diz que a divindade foi antes de tudo a palavra, o logos, a razão determinante das aparências. Este destino da palavra, mais revelador que descritivo, mais simbólico que racional, destino ausente na obra de Coelho Neto e de João Neves, surge no entanto em Macário e Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, como está presente um pouco em toda parte da vossa obra.
De qualquer forma, como verbo ou como logos, em verso ou em prosa, a palavra é a ocupante perene de vossa cadeira.
Curiosamente, na prosa de Álvares de Azevedo mais que na poesia, o mistério do logos se entremostra sob as roupagens do verbo. Coelho Neto e João Neves não se afastam do território do verbo, com a diferença de que Coelho Neto é muito orador na obra escrita, e João Neves muito escritor na obra falada.
Vós voltastes, com novos recursos, à tradição do logos.
Dedicastes vossa vida, totalmente, à arte da palavra escrita. Vossos deveres para com a função diplomática são cumpridos à risca, mas os prazeres dela vos são indiferentes: a vida nos grandes centros mundiais, os prestígios sociais e os seus símbolos, as satisfações epicuristas. Vossas viagens são feitas para dentro de vós mesmos. Mares e céus tendes sempre convosco, no vosso penhasco isolado entre Copacabana e Ipanema. Misturais seus azuis da vossa janela mais que dos vidros fechados dos aviões ou das escotilhas dos transatlânticos.
Entre vossos livros trabalhais obstinado, mais que indiferente ao apelo do comum, dele desapercebido.
Entre mar e céu surgem da vossa pena as figuras imortais dos homens e mulheres de um outro Brasil, que ambos conhecemos e amamos, o dos campos gerais e das savanas do São Francisco.
E, por meio deles, agitais os sofrimentos e paixões humanas. A língua alemã, que bem conheceis, possui dois substantivos que indicam o homem e a mulher, não como indivíduos, mas como entidades da espécie: – der Mensch, das Weib. O homem e a mulher tomados não genericamente, mas geralmente, sendo que, quanto à mulher, das Weib, o nome deixa de ser feminino para ser neutro, como que marcando os atributos mais altos da feminilidade, isentos das contingências do sexo. Vossa representação simbólica desse homem e dessa mulher, em síntese, chegou ao ápice na figura de Diadorim, homem e mulher ao mesmo tempo. Há, para mim, outro símbolo na morte de Diadorim, que é uma humana transfiguração. Vivo, na luta suja da vida, ele era homem; mas morta ela se transfigura em mulher, sem sexo, neutra como na palavra alemã, elevando-se a uma espécie de expressão mais alta da humanidade.
Eu, que sem desdenhar minha Belo Horizonte natal sinto as profundas raízes do meu ser em Paracatu, tenho condições especiais para penetrar a atmosfera humana até o rigor e simbólica até o abstrato dos vossos livros. Ginasiano, eu pendurava na parede do meu quarto um chapéu de trabalho de vaqueiro de sola crua com alça para prender na nuca, e um outro chapéu de vaqueiro, este de cerimônia, negro, de barbicacho ou sujigola, e coberto de caprichosos bordados de couro claro. Meu pai deu-me dois cuités trabalhados com arabescos, que eu também guardava quase como objetos preciosos. Ainda hoje, na minha casa, ocupa lugar conspícuo o belo oratório entalhado que veio das nossas terras do Saco dos Lobos, à beira do Rio Prêto, e comigo estão também as chinelas de prata, de roseta transversal, do velho Arinos. A meu pai conheci sempre com uns misteriosos guardados paracatuanos, velhos papéis de família, livros antigos de vereança e de testamentos, retratos a óleo e fotografias e, alguma vez, o tonelzinho de umburana, com a paracatulina dourada.
Coisa curiosa, Paracatu é a princesa longínqua da vossa obra. De lá se vem, mas lá nunca se chega. Paracatu, rainha destronada, reina a distância. A moça de Paracatu, o boiadeiro que de lá chegou, as coisas que de lá contam, que lá aconteceram. "Paracatu, terra dos refúgios", como dizeis em um dos vossos contos. Mas ninguém a atinge diretamente nunca, nos vossos livros, a que eu me lembre. A cidade da minha gente é como a moça Diadorim, próxima e inatingível. Paracatu, flor da lonjura, estrela do antes, túmulo do depois, é para vós, e também para mim, fonte inspiradora que borbulha de vez em quando, na sombra.
Recordo vosso entusiasmo quando me perguntastes, certo dia, a respeito de um arraial nas cercanias da velha cidade sertaneja: "Como se chamava, nos tempos, este lugar?" E eu vos respondi: "Barra da Vaca". E logo se formou uma página com este nome.
Senhor Guimarães Rosa:
A Academia Brasileira de Letras, ao receber-vos, sabe que chama ao nosso convívio uma das grandes figuras das letras nacionais de todos os tempos; o escritor que deu de fato uma dimensão maior à nossa realidade: maior pelo rigor do pequeno e pela extensão do grande; maior pela profundeza do interno e pela leveza do externo; maior pela palavra - logos, trabalhada até o sacrifício.
Senhor Guimarães Rosa, é pela Academia Brasileira de Letras que tenho a honra de receber-vos. Mas permiti vós, permitam os nossos ilustres confrades, que, diante de Cordisburgo, o faça também em nome da Vila da Manga de Santo Antônio e Sant'Ana do Paracatu do Príncipe.
Afonso Arinos
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa