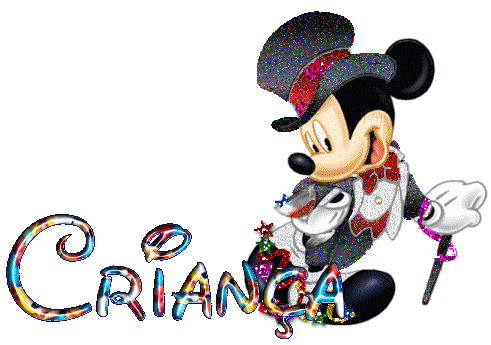Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




Histórias e Sonhos
UMA CONVERSA VULGAR
O meu conhecimento com aquele venerável velho me viera devido às relações que mantive com um seu neto, que fora meu colega de colégio. Isto que se passou comigo e ele, e conto agora, deu-se há anos.
Tinha eu totalmente, por aquela época, abandonado os estudos, o neto já havia falecido; e, abandonando os estudos, como se diz, procurara e já ocupava um emprego público. Apesar da irremediável falta do meu antigo colega, continuava a freqüentar a casa do velho Florêncio, cujas conversas muito apreciava. A sua residência era fora da cidade, em um sítio lá pelas bandas de Campo Grande, bem tratado, com muita laranja, capados, galinhas, perus; e a casa de moradia era vasta e tinha muitos cômodos.
Ele morava com a filha, mãe do meu antigo colega, uma mocetona, irmã deste, e um seu irmão, que poderia ter ai os seus cinqüenta e poucos anos, um tipo acabado de pequeno proprietário rural das nossas terras.
Este irmão, o mais moço dos quatro, sendo que dois já eram mortos, tinha tido uma mocidade acidentada; e, aos quarenta e poucos anos, sossegara, fazendo-se o mais plácido roceiro que se pode imaginar.
Aposentando-se Florêncio no lugar de escrivão do almoxarifado da Marinha, viera ele morar com o irmão ali, acompanhado da filha, viúva com dois filhos, um dos quais, o homem, como já disse, fora meu colega no internato secundário.
Quando cismava, sem mesmo me anunciar, ia aos sábados para lá, dormia e todo o domingo, fosse a cavalo pelos arredores, fosse jogando o solo, nós três - ele, o irmão e eu - passava-o eu na maior satisfação.
Não era lugar bonito, mas era são, e toda a gente do velho Florêncio era de uma meiguice para mim de me encher de saudades quando saía de manhã, segunda-feira, para vir para a morrinha da repartição.
Calhou aquela segunda-feira cair em dia que era do recebimento da sua aposentadoria no Tesouro. Florêncio disse-me logo, pela manhã, na segunda-feira: - Você, Bandeira, acompanha-me até o Tesouro, que quero ir com você até ao Pão de Açúcar, no tal bonde aéreo.
Sendo os primeiros dias do mês e eu não tendo faltado até ali, podia bem acompanhá-lo no passeio que premeditava.
Florêncio contava perto de setenta anos mas ainda era forte, pisava com liberdade e segurança e a sua conversa tinha o pitoresco e o encanto singular de ser como as "memórias" vivas do Rio de Janeiro.
Muito observador, com uma memória muito fiel para data e fisionomias, tendo vivido em certas rodas de algum destaque, podia-se, conversando com ele, saber a vida anedótica do Rio de Janeiro, quase desde a coroação e sagração de Pedro II, em 1841, até nossos dias.
Apreciava-o muito por isso, e, sem precisar provocá-lo, bastava um incidente qualquer, uma velha casa avistada, em qualquer parte, um encontro, um sobrenome, para ele me contar histórias pitorescas da vida social, política, sentimental ou escandalosa do Segundo Reinado.
Saímos do Tesouro logo que recebeu o seu dinheiro, e fomos em demanda do largo de São Francisco.
Notei que ele olhava para um lado e outro, como procurando alguém. Quase no meio da praça, quando a atravessamos, em direitura à rua do Ouvidor, veio a seu encontro um homem, não muito velho, orçando aí pelos quarenta e poucos, mas avelhantado, sujo mesmo, barba por fazer. Era mulato claro, de feições regulares. Logo que se apertaram as mãos, Florêncio disse ao outro: - Você não foi ao Tesouro! - Atrasei-me...
E gaguejou, sem encontrar desculpa.
O velho meu amigo não esperou que ele a encontrasse e foi dizendo: - Você não toma juízo... Onde você está morando? - No mesmo quarto, "seu" Florêncio.
- Por que não vai para casa descansar um pouco? - “Seu” Florêncio, é longe... Aqui sempre faço os meus biscates...
- Bem. Tome lá, Ernesto.
E puxou uma nota de dez mil-réis e deu-lha.
Senti no olhar do Ernesto uma doida vontade de ir-se, logo que sentiu o dinheiro na algibeira.
Afinal deixamos o rapaz e reencetamos o caminho da rua do Ouvidor. Eram quase duas horas da tarde e o largo de São Francisco, se bem que decaído do antigo movimento, quando todas as linhas de bondes de São Cristóvão e Tijuca nele paravam, tinha alguma agitação.
Emparelhávamos com a estátua, quando o velho Florêncio me disse: - Você conhece esse homem? - Não.
- É filho do visconde de Castanhal.
- Como? O capitalista? - Sim; o capitalista.
- Não se acredita.
- Vou contar a você como ele o é. Quando Castanhal chegou aqui era simplesmente José da Silva. Homem tenaz, abriu, onde hoje é a luxuosa rua Gonçalves Dias, antiga dos Latoeiros, uma casa para vender leite em copos, em garrafas e lacticínios. Não havia dessas casas na cidade e logo foi a dele se afreguesando. Silva atendia à freguesia na sala; e no interior, para encher as garrafas, lavar os copos, cozinhar para ele e tratar da sua roupa, tinha uma preta com quem vivia amasiado. Na rua Gonçalves Dias, canto da do Ouvidor, naquela época, vinham parar os bondes do Jardim Botânico, cujo título era então em inglês. José da Silva lembrou-se de gelar o leite, isto é, pôr certo número de garrafas mergulhadas no gelo, que vinha da América do Norte, nos porões dos navios, pois ainda não se havia descoberto o processo de fabricá-lo artificialmente. O leite gelado "pegou", como se diz; e sendo o lugar freqüentado, em breve José da Silva viu-se obrigado a aumentar a casa que até aí só tinha duas portas.
Um outro seu patrício invejou-lhe a sorte e Silva, finório que era, tratou logo de passar o estabelecimento adiante com grande lucro. Mas... eu não contei a você uma coisa.
- Qual é? - O Silva e a crioula tiveram um filho e o mulatinho cresceu até aos cinco ou seis anos, na leiteria de Silva, conhecido dos fregueses como filho dele. Assim o conheci. Passaram-se cinco ou seis anos sem que eu soubesse do Silva, crioula e filho, quando, indo a Catumbi e passando na porta de uma estalagem, vejo aproximar-se de mim uma crioula que me tratava pelo nome. Disse-me que era a rapariga de José da Silva, em cuja casa de lacticínios me conheceu. Há três anos - é ela a falar - ele, o Silva, a abandonara, para casar-se convenientemente. Nada dera a ela nem ao filho; e a sua vida, com o pequeno Ernesto, havia sido até aquele dia um tormento de angústia e de misérias. Mandei que me procurasse em casa. Morava por esse tempo com minha mãe e irmãos na rua do Senado, numa casa de altos e baixos, com uma chácara que dava para o morro já desaparecido. Falei a minha mãe que a admitisse em casa ao que ela acedeu; e, por minha vez eu, que já estava na Marinha, consegui colocar o molecote no arsenal como aprendiz. Minha mãe morreu, etc., etc... O pequeno prosperou, aprendeu a ler, fez-se em breve oficial; e, quando acabamos com a casa paterna, ele pôde armar a sua e sustentar a mãe.
Parecia marchar muito bem e Ernesto nunca me deixou de procurar.
Gostei sempre dele, pois era bom filho, honesto, zeloso, e digno de toda a proteção. Há não sei que desgosto recalcado nessa gente, não sei que ponto fraco, que rachadura, que eles acabam sempre arrebentando de alguma forma. Este Ernesto depois da morte da mãe deu em beber. Perdeu o emprego e vive agora como você vê. Tenho muita pena dele, dou-lhe dinheiro, sabendo mesmo que é para beber; mas não sei que coisa me diz, que tenho alguma culpa nas carraspanas que transformaram esse rapaz ou na razão da transformação que o levou a bebedeiras contínuas, que me apiedo dele, do seu vicio e lhe dou dinheiro.
- Que pai! - Não há muito que censurá-lo. Hoje, não sei; mas, naquele tempo, essas ligações preliminares, intróito e prefácio do venerável casamento com bênção sacerdotal e sacramental da igreja, eram admitidas; e as suas rupturas simples, inflexíveis, assim como a do Silva com a mãe do Ernesto, não vexavam ninguém. Os futuros sogros, para dar o “sim" aos futuros genros, só admitiam uma coisa: e que elas, as rupturas, se realizassem e os seus genros futuros nunca mais procurassem, não só as raparigas, o que era justo, mas o filho ou filhos também...
Nós tínhamos chegado à avenida Central. A moderna via pública tinha o movimento do costume: os mesmos mirones, os mesmos estafermos com as mesmas caras idiotas para as mulheres e moças que passavam. Subitamente, Florêncio pega-me pelo braço e, apontando, diz: - Você sabe quem é aquela moça que vai ali? - Onde? - Com aquelas duas senhoras? - Quem é? - É a filha mais moça do Castanhal; é irmã do Ernesto que acabamos de deixar.
Ainda me demorei olhando pelas costas a moçoila que seguia em direitura à rua do Ouvidor; e considerei bem o seu vestuário caro, na moda, de cujo corpete surgia o pescoço bem modelado e de uma linda tinta moreno-claro.
Outras Histórias
UMA ACADEMIA DE ROÇA
Na botica do Segadas - Farmácia Esperança - que pompeava a sua enorme tabuleta, na principal rua de Itaçaraí, cidade do estado de..., cabeça da respectiva comarca, reuniam-se todas as tardes um grupo seleto dos habitantes do lugarejo, para discutir letras, filosofia e artes.
Era esse grupo formado das seguinte pessoas: doutor Aristogen Tebano das Verdades, promotor público; doutor Joaquim Petronilho, médico clínico na comarca; Sebastião Canindé, sacristão da matriz; e o doutor Francisco Carlos Kauffman, austríaco e alveitar de uma grande fazenda de criação nos arredores. Dele, também fazia parte o proprietário da botica - o Segadas.
O espanhol Santiago Ximénez, principal barbeiro da localidade, proprietário do Salão Verdun, aparecia, às vezes, na tertúlia; recitava um pouco de Campoamor ou citava Escrich; mas despedia-se logo, a fim de ir para o botequim do Cunha, onde podia unir o útil ao agradável, isto é, juntar o parati ou a genebra ao poeta de sua paixão - Campoamor - ou ao romancista de sua admiração - Pérez Escrich. Na botica, não havia disso e a sua literatura necessitava de um acompanhamento de beberiques.
O presidente do grupo era espontaneamente o promotor que sempre tinha versos a recitar e questões literárias a propor. A bem querida dele era indagar se mais valia a forma que o fundo ou viceversa; inclinava-se pelo último, por isso gostava muito de Casimiro de Abreu e de Fagundes Varela.
O doutor Petronilho não tinha opinião segura sobre o caso, tanto mais que, a não ser Bilac, ele não suportava outro poeta; entretanto, vivia possuído de particular admiração por Aristogen e a sua versalhada desenxabida. Coisas...
Sebastião Canindé era, pela forma, parnasiano da gema; mas os versos que publicava no jornal da localidade eram horrivelmente errados e rimados a martelo; eram piores do que os de Aristogen.
Tinha as charadas por especialidade.
O austríaco não sabia nada dessas cousas. Lera os poetas de sua pátria, alguns alemães e italianos, a Bíblia, Shakespeare e o Dom Quixote.
Não percebia nada dessa história de épocas e escolas literárias.
Ia à reunião para distrair-se.
Um belo dia, Aristogen lembrou aos companheiros: - Vamos fundar uma Academia de Letras? Canindé indagou: - Daqui, do município? - Sim, respondeu Aristogen. Vamos? O doutor Petronilho observou: - Quantos membros? Aristogen acudiu logo: - Quarenta, por certo! O doutor Kauffman refletiu: - Oh! Eu acho muito.
Aristogen objetou: - Muito! Não há tal! Há, além dos residentes aqui nascidos ou não no lugar, muito filho do município ilustre que anda por aí.
Olhe: o doutor Penido Veiga, nosso representante na Câmara Federal, é um fino intelectual; pode, portanto, fazer parte dela. O tenente Barnabé, que aqui nasceu, acaba de fazer com brilho o curso de aviação; pode também fazer parte. O Jesuíno, filho do Inácio, ali do "armazém", vive em destaque no tribunal de contas, para onde entrou depois de um concurso brilhante: está naturalmente indicado a ser um dos membros.
E, assim, muitos outros.
Com sujeitos portadores de semelhantes títulos literários, Aristogen organizou a sua academia de letras de quarenta membros, porque ela não podia ficar por baixo das outras, inclusive a brasileira, tendo menos imortais que elas.
Veio o dia da instalação solene que, em falta de local mais adequado, teve lugar na barraca de lona do circo de cavalinhos que trabalhava na cidade, por aquela ocasião.
Os acadêmicos presentes, inclusive o barbeiro Ximénez e o austríaco Kauffman, que eram do número deles, sentaram-se ao redor de uma longa mesa, que fora colocada no centro do picadeiro.
Os convidados especiais tomaram lugar nas cadeiras, arrumadas na linha da circunferência que fechava o circulo das acrobacias, peloticas e correrias de cavalos. As arquibancadas, para o povo miúdo, entrada franca.
Uma charanga, a Banda Flor das Dores de Nossa Senhora, tocava à entrada da barraca, dobrados estridentes e polcas chorosas.
Aristogen tomou a presidência, tendo ao lado direito o presidente da câmara, coronel Manuel Pafúncio; e, à esquerda, o secretário geral, o sacristão Canindé.
Depois de lido o expediente, começou a pronunciar o seu discurso em linguagem castigada, porque, se não o era no verso, na prosa ele era pamasiano e clássico.
Começou: - Senhores: Após longo decurso de tempo, lamentavelmente riçado por dificuldades, impedimentos, estorvos grandes, que adversaram a instituição definitiva desta Academia - é possível, alfim, realizar o ato de posse de sua diretoria, e eu procurarei salientar a determinante fundamental deste Instituto.
Logo neste período, o doutor Petronilho observou baixinho ao austríaco: - É castiço. Fala que nem o Aluísio. Não achas? O austríaco respondeu em voz baixa também: - Oh! Eu não sape essas coisas.
Aristogen continuou: - Basta que, à fé sincera, eu vo-lo afirme: há, dentre os eleitos para esta Egrégia Companhia, os que desalentaram em meio da jornada; há os que se deixaram empolgar de tanta vaidade que já se sentem sobrelevados aos que lhes foram pares na eleição; há os que do alto do seu valor, gozando a convicção própria de serem olímpicos, supremos, sorriram, num sorriso complacente de superior condescendência, aos pigmeus que lhes buscaram a honra eminente do convívio. E, pois, urgente, inadiável detergir esta Academia.
Petronilho, ainda cochichando, confidenciou aos ouvidos do alemão: - Não te dizia? É mais que o Aluisio; é o próprio Rui.
A assistência estava embascada com fraseado tão bonito, que, na sua maioria, ela mal compreendia.
Chegava ao final com este período: - Se procedermos concorde ao padrão que ora vos proponho, embora fosse ele discutido às rebatinhas, estou certo que ganharão timbre de verdade as palavras refregentes de Canindé, de Barnabé, de Kauffman e outros, quando, d'alma inspirada, anteviram no apogeu, esta Academia, qual nem eu quisera! Não teve tempo de sentar-se o orador, porque, no exato momento em que acabava a sua oração, os cavalos do circo, livrando-se das prisões que os subjugavam, invadiram a arena em que estavam os acadêmicos, e os afugentaram a todos eles, unicamente por ação de presença.
Nunca mais a Academia de Letras de Itaçaraí se reuniu.
A MULHER DO ANACLETO
Este caso se passou com um antigo colega meu de repartição.
Ele, em começo, era um excelente amanuense, pontual, com magnífica letra e todos os seus atributos do ofício faziam-no muito estimado dos chefes.
Casou-se bastante moço e tudo fazia crer que o seu casamento fosse dos mais felizes. Entretanto, assim não foi.
No fim de dous ou três anos de matrimônio, Anacleto começou a desandar furiosamente. Além de se entregar à bebida, deu-se também ao jogo.
A mulher muito naturalmente começou a censurá-lo.
A princípio, ele ouvia as observações da cara-metade com resignação; mas, em breve, enfureceu-se com elas e deu em maltratar fisicamente a pobre rapariga.
Ela estava no seu papel, ele, porém, é que não estava no dele.
Motivos secretos e muito íntimos talvez explicassem a sua transformação; a mulher, porém, é que não queria entrar em indagações psicológicas e reclamava. As respostas a estas acabaram por pancadaria grossa. Suportou-a durante algum tempo. Um dia, porém, não esteve mais pelos autos e abandonou o lar precário. Foi para a casa de um parente e de uma amiga, mas, não suportando a posição inferior de agregada, deixou-se cair na mais relaxada vagabundagem de mulher que se pode imaginar.
Era uma verdadeira "catraia" que perambulava suja e rota pelas praças mais reles deste Rio de Janeiro.
Quando se falava a Anacleto sobre a sorte da mulher, ele se enfurecia doidamente: - Deixe essa vagabunda morrer por aí! Qual minha mulher, qual nada! E dizia cousas piores e injuriosas que não se podem pôr aqui.
Veio a mulher a morrer, na praça pública; e eu que suspeitei, pelas notícias dos jornais, fosse ela, apressei-me em recomendar a Anacleto que fosse reconhecer o cadáver. Ele gritou comigo: - Seja ou não seja! Que morra ou viva, para mim vale pouco! Não insisti, mas tudo me dizia que era a mulher do Anacleto que estava como um cadáver desconhecido no necrotério.
Passam-se anos, o meu amigo Anacleto perde o emprego, devido à desordem de sua vida. Ao fim de algum tempo, graças á interferência de velhas amizades, arranja um outro, num estado do Norte.
Ao fim de um ano ou dous, recebo uma carta dele, pedindo-me arranjar na polícia certidão de que sua mulher havia morrido na via pública e fora enterrada pelas autoridades públicas, visto ter ele casamento contratado com uma viúva que tinha "alguma cousa", e precisar também provar o seu estado de viuvez..
Dei todos os passos para tal, mas era completamente impossível.
Ele não quisera reconhecer o cadáver de sua desgraçada mulher e para todos os efeitos continuava a ser casado.
E foi assim que a esposa do Anacleto vingou-se postumamente.
Não se casou rico, como não se casará nunca mais.
DENTES NEGROS E CABELOS AZUIS
A Edgard Hasselman
Era dos mais velhos, o conhecimento que eu mantinha com esse rapaz. Iniciadas na rua, nos ligeiros encontros dos cafés, as nossas relações se estreitavam dia a dia. Nos primeiros tempos, ele sempre me apareceu como uma pessoa inalteravelmente jovial, indiferente às pequeninas cousas do mundo, céptico a seu modo; mas, em breve sob essa máscara de polidez, fui percebendo nele um queixoso, um amargo a quem uma melancolia, provinda de fugitivas aspirações impossíveis, revestia de uma tristeza coesa. Depois o seu caráter e a sua organização muito concorriam para sua dorida existência. Muito inteligente para amar a sociedade de que saíra, e muito finamente delicado para se contentar de tolerado em outra qualquer, Gabriel vivia isolado, bastando-se a si e aos seus pensamentos, como um estranho anacoreta que fizesse, do agitado das cidades, ermo para seu recolhimento.
As vezes ele nos surgia com uns ares de letrado chinês, lido em Sai-Tsê, calmo, superior, seguro de si e contente de se sacrificar à lógica imanente das cousas. Não dava um ai, não se lamentava, talvez temendo que o alarido de seus queixumes não desassossegasse a viagem do seu espírito “par-delà du soleil, par-delà de l'éther, par-delà des confins de sphères étoilées".
Um dia o encontramos, eu e mais alguns da roda, e a um deles que lhe perguntava: “Que tu vais fazer agora?" aludindo às conseqüências do último desastre da sua vida, Gabriel responde: - Nada! O soberano bem não é agir.
Dias depois confessava-me o contemplativo que seguia idiotamente, pelas ruas e pelos bondes, os belos olhos negros de uma preceptora francesa.
Sua natureza era assim, dual, bifronte, sendo que os seus aspectos, por vezes, chocavam-se, guerreavam-se sem nunca se colarem, sem nunca se justaporem, dando a crer que havia entre as duas partes um vazio, uma falha a preencher, que à sua união se opunha um forte obstáculo mecânico...
Esta maneira biface de sua organização, a sua sensibilidade muito pronta e uma tentação delirante, para as satisfações materiais, tinham transformado a sua vida num acúmulo de desastres; pelo que, em decorrer dela, de todo se lhe fora aquela película cética, faceta, gaiata, ficando-lhe mais evidente a alegria e o sainete do filósofo pessimista, irônico, debicando a mentira por ter conhecimento da verdade, que é uma das povoadoras da imagem sem validade que é o mundo. Pelos seus trinta e quatro anos, eu o procurava em sua casa uma pequena casinha, numa rua da ponta do Caju, junto daquele mar de morte que beija as praias desse arrabalde, olhando defronte o cinzelado panorama das montanhas.
Não vivia mal, o emprego exigia pouco e dava relativamente muito; e solteiro, habitava a casinha com um africano velho, seu amigo, seu oráculo e seu cozinheiro; e um desgraçado poetastro das ruas, semilouco e vagabundo.
Era uma colônia de ratés animados pela resignação africana.
Quando eu entrei em sua casa naquela tarde, a sua fisionomia radiava. Pareceu-me que a iluminação interior que há muito sentíamos nele ia afinal exteriorizar-se. Seu rosto afinara-se, sua testa alongara-se, havia pelo seu olhar faiscações novas; era como se a graça descesse até ele, povoasse-lhe a alma e a enchesse de tal modo que se extravasasse pelo seu olhar brilhante, bondoso e agora calmo.
- Que tens hoje, fui lhe dizendo, a tua apaixonada rendeu-se ou achaste... o teu destino? - Qual paixão, qual destino! interrompeu ele. O sábio não tem paixões para melhor poder contemplar a harmonia do universo.
E depois dessa sentença, não sei de que filósofo hindu ou chinês, ele me leu o seguinte, escrito com letra miúda e irregular em duas dezenas de tiras de papel almaço, cheias de paixão.
Morava eu nesse tempo em rua remota de uma estação de subúrbio afastado. Sem calçamento e mal iluminada, eu a trilhava às desoras em busca da casa reconfortante. Afazeres, e, em geral, a exigência do meu temperamento pelo bulício, pela luz da cidade, faziam-me demorar nas ruas centrais. A esmo, por elas à toa, passeava, vagava horas e horas, olhando e conversando aqui, ali; e quando inteiramente fatigado, buscava o trem e durante uma meia hora, tímido, covarde, encostado a um canto, pensava, sofria à menor risota e o mais imbecil dito cortava-me a alma. Era a constante preocupação das minhas idéias passar meu sofrimento, a outra pessoa, evitá-lo detidamente a alguém.
Sob a pressão daquela mágoa eterna, no meu íntimo ficava o seu segredo exigente de comunicação, fosse mesmo a quem não tivesse o refinamento do meu espírito e que a substância imortal lhe animasse a vida, não tivesse sido adivinhado e me sentia impelido a comunicá-lo.
Era nessas ocasiões que eu pensava no amor, mas... Bem depressa, porém, meu espírito se perdia, caia em devaneio, não encontrava deleite, sorria. Do homem ia aos cães, aos gatos, às aves, às plantas, à terra, em busca de confidente.
Uma vez, em frente ao mar augusto, verde e translúcido, tive desejos de lhe contar o meu segredo, mas logo o temor me veio de que os ventos voltassem, e trouxessem para a vasta cidade as minhas palavras, tal como a planta que nasceu à confidência feita à terra do feitio das orelhas do rei Midas.
Quando a percepção do meu estado, da maneira da minha existência, era mais clara aos meus olhos, arquitetava planos de fugas para lugares longínquos, livros vibrantes como indignações de Deus; mas nada disso executei. Qualquer cousa muito obscura na minha estrutura mental, talvez mesmo o sentimento da lógica da hostilidade de que me via cercado, impedia-me de reagir ativa ou passivamente.
Agachava-me por detrás do meu espírito e então bebia em largos prantos o fogo claro, claro que enche os límpidos espaços e, por instantes, era feliz porque: Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse S'élancer vers les champs lumineux et sereins, Celui dont les pensées comme des alouettes Vers les cieux le matin prennent un libre essor Qui plane sur la vie et comprend sans effort Le langage des fleurs et des choses muettes.
Depois de ter carinhosamente ouvido essa linguagem, a amargura aumentava. O espírito dirigia, reclamava, queria qualquer cousa, não se bastava a si mesmo, esperava na sua prisão, no seu cárcere; e, para o meu caso, oh! que blasfêmia, o provérbio se modificara: "não é só de espírito que vive o homem...” Certa noite, demorando-me mais do que de costume, fui saltar à estação pelas duas horas da madrugada. Tudo era mudo e ermo. Um ventinho constante soprava, inclinando as árvores das chácaras e agitando as amareladas luzernas de gás como espectros aterradores.
As casas imóveis, caiadas, hermeticamente fechadas pareciam sepulcros com portas negras. A escuridão aconchegava os morros nas suas dobras. Pus-me a andar rapidamente. A rua pouco larga, bordada de bambuais de um e outro lado, iluminada frouxamente e abobadada no nevoeiro, era como uma longa galeria de museu. Em meio do caminho, alguém saltou-me na frente e, de faca em punho, disse-me: - Olá! Passe o "bronze" que tem.
Não tinha francamente grande prática desses encontros, contudo me portei na altura da sua delicadeza. Calmamente tirei das algibeiras o pouco dinheiro que tinha e, de mistura com alguns cupons de bonde, pálido, mas sem tremer, entreguei-o ao opressor daquele minuto fugace.
O gesto foi belo e impressionou o bandido, a tal ponto que nem por sonhos desconfiou que eu poderia ter deixado algum oculto pelos forros. Há, já se disse, mais ingenuidade nos grandes criminosos do que a gente em geral supõe. Quase com repugnância ele recebeu o maço que lhe estendia; e já se retirava quando a uma onda de luz que em um vaivém da chama de gás lançou-me, percebeu alguma cousa nos meus cabelos e com ironia indagou: - Tens penas? És azul? Que diabo! Estes teus cabelos são especiais.
Ouvindo isso, eu o fitei com as pupilas em brasa e minha fisionomia devia ter tão estranha expressão de angústia que o ladrão fechou a sua e estremeceu. E que as suas palavras relembravam-me toda a minha existência envenenada por aquele singular acidente; as desastrosas hesitações de que ela ficara cheia; o azedume perturbador, ressaibo do ódio e de amarguras de que estava tisnado. Os suplicios a que meu próprio espírito impunha. E de uma só vez, baralhado tudo isso se ofereceu aos olhos como uma obsessão demoníaca, algo premente, cruel, vivendo em tudo, em todas as cousas, em qualquer boca, na boca de um ladrão.
- Pois até tu! Que mais queres de mim? disse-lhe eu. Acaso além do dinheiro que trazem nas algibeiras, mais alguma coisa te interessa nos transeuntes? Es tambem da sociedade? Movem-te as considerações dela? Olhei-o interrogativamente. O homem tinha o ar mudado. Os lábios estavam entreabertos, trêmulos, pálidos, o olhar esgazeado, fixo, cravado no meu rosto. Olhava-me como se olhasse um duende.
um fantasma. Contendo porém a comoção, pôde dizer: - Dentes negros! Meu Deus! É o diabo! É uma alma penada, é um fantasma.
E o rosto dele dilatava-se, as pupilas estendiam-se; tinha os cabelos eriçados o homem que me assaltava; e desandaria a correr se o medo não lhe pusesse pesadas toneladas nas pernas.
Esteve assim minutos até que percebeu que a expressão do meu rosto era de choro e que nele havia a denúncia de uma grande mágoa fatal. O meu interlocutor transmudou as contrações de horror estampadas nas suas feições, abrindo-as num dúlcido sorriso de bondade.
- Desculpa-me. Desculpa-me. Não sabia. Quem não sabe é como que não vê.
E sem ligação continuou: - Não me creias um miserável gatuno de estradas, um comum assaltante de ruas. Foi o momento que me fez. Emprego-me em mais altos "trabalhos", mas preciso de uns "miúdos" e, para obtê-los, o meio se impunha. Se me demorasse, a ocasião perdia-se. Bem sabes, a vida é um combate; se não se fere logo, morre-se. Mas... Deus me ajudará. Toma o teu dinheiro. Arranjarei sem ele como iniciar o meu grande "trabalho", aquele que é a mira, o escopo da minha existência, que me vai dar, enfim, o descanso (resplandecia), a consideração dos meus semelhantes e o respeito da sociedade. Vai... Tu és sem esperança. Vai-te... Desculpa-me.
Aqueles meus cabelos azuis, cabelos que eram o suplício da minha vida, e aqueles meus dentes negros compuseram-se, dignificaram-se para sorrir ao herói jovialmente, de reconhecimento e temura.
- Mas quem te faz sofrer, rapaz? perguntou-me o desconhecido.
- Ninguém, falei-lhe eu, ninguém. E o meu espírito, meu entendimento, é a representação que ele faz do mundo circundante.
Íamos nos separar, quando ainda ele insistia: - Com isso deves sofrer muito? Dessa vez, antes de lhe responder pensei ligeiramente. Quem seria aquele homem? Vê-lo-ia ainda uma vez? Nunca mais, era certo. Depois daquele minúsculo incidente de sua carreira, continuaria inflexivelmente na sua grande missão sobre a terra. Teria todo o interesse em me fugir, em desaparecer dos meus olhos, ou senão, reconhecido, se eu encontrando não o denunciasse, ligar-se-ia a mim pela gratidão. Por que, sendo assim, não havia eu de lhe contar o meu segredo? Ouviria, não compreenderia bem; se o quisesse contar a outrem as palavras me faltariam.
Certo disso e de que naquele indivíduo a ternura não era um jogo de sociedade, nem uma forma de elegância, quase espontaneamente, pus-me a lhe narrar a minha desventura: - Dói-me, sim! Dói-me muito. É o demônio que me persegue, é o perverso desdobramento da minha pessoa. E uma companhia má, amarga, tenaz que me esporeia e que me retalha. Ela vai junto a mim, bem junto, no caminho que trilho, haja luz ou haja trevas, seja povoada ou deserta a estrada. Não me abandona, não me larga. Dorme comigo, sonha comigo; se me afasto um instante dela ela volta logo, logo, dizendo-me ao ouvido baixinho, com um cicio cortante: 'stou aqui! É um símio irritante que me faz caratonhas e me vai às costas, pula na minha frente, dança, espemeia.
O ladrão tinha agora outra espécie de espanto: era o espanto das palavras, das altas palavras. A sua grosseria nativa, primacial, sem limitações de qualquer educação, ia por elas alto, entendendo-as a meio, seu espírito aguçava-se e penetrava melhor no meu.
- Se, em dia claro e azulado, continuei, vou por entre árvores, crendo-me só, e feliz, o miserável rafeiro que passa deixa a inexorável busca do osso descarnado, para olhar as caretas do símio em que me desdobro, e ri-se de mim, meio espantado, mas satisfeito. Então, como por encanto o caminho se povoa. Há por toda parte zumbidos, alaridos, risotas. Do farfalho das árvores ouço: Olá, tingiste a cabeça no céu; mas onde enlameaste a boca? Os seixos rolam, crepitam, e na sua vileza não escolhes palavras, não ensaiam deboches, gritam: monstrengo, vergonha da terra.
O gatuno analisava-me a fisionomia. Detinha-se nos meus olhos, no meu nariz, nos meus lábios, até as minhas mãos, os meus pés mereceram a análise do seu olhar inquieto. Foi por esse tempo que me lembrou reparar quem estava na minha frente. Era um homem alto, de largas espáduas, membrado, e que em "sotaque" espanhol, me falou ainda: - Tu és poeta. Fantasias... Vês demais.
- Talvez que a minha sensibilidade... Mas não, não! Meu organismo não mente, fala a verdade: é como o microscópio a descobrir um mundo hostil onde nada se vê, retorqui eu...
- Não andas por aí, pelos teatros, pelos cafés - como então é possível isso? inquiriu ele.
A pergunta me atrapalhava; era da minha natureza, estas contradições ostensivas, entretanto pude lhe responder: - É verdade.., mas palmilho tais lugares escravo do meu gênio, servo dos meus sentidos, que são inimigos do meu corpo; posso fugir deles, mas muito me custa seguir o curso imperioso dos meus nervos.
Não sei... Não sei... Eu devia fugir, desaparecer, pois mal ando passos, mal me esgueiro numa travessa, das gelosias, dos mendigos, dos cocheiros, da gente mais vil e da mais alta, só uma cousa ouço: lá vai o homem de cabelos azuis, o homem de dentes negros... É um suplício! Tudo se apaga em mim. Isso unicamente brilha. Se um amigo quer referir-se a mim em conversa de outros, diz: aquele, aquele dos dentes negros... Os meus sonhos, as minhas leituras, são povoados pelos momos do símio. Se escrevo e faltam sílabas nas palavras, se estudo e não compreendo logo, o sagüi salta-me na frente dizendo com escárnio: - fui eu que a "cumi", fui eu que não te deixei compreender...
Meu peito arfava, meus olhos deviam brilhar desusadamente. A animação passava de mim ao ouvinte. Ele todo vibrava às minhas palavras...
- Mas trabalha, sê grande... combate, aconselhou-me.
- Bom conselho, bom... Ah! Como és mau estratego! Não percebes que não me é dado oferecer batalha; que sou como um exército que tem sempre um flanco aberto ao inimigo? A derrota é fatal. Se ainda me houvesse curvado ao estatuído, podia... Agora...
não posso mais. No entanto tenho que ir na vida pela senda estreita da prudência e da humildade, não me afastarei dela uma linha, porque à direita há os espeques dos imbecis, e à esquerda, a mó da sabedoria mandarinata ameaça triturar-me. Tenho que avançar como um acrobata no arame. Inclino-me daqui; inclino-me dali; e em tomo recebo a carícia do ilimitado, do vago, do imenso Se a corda estremece acovardo-me logo, o ponto de mira me surge recordado pelo berreiro que vem de baixo, em redor aos gritos: homem de cabelos azuis, monstro, neurastênico. E entre todos os gritos soa mais alto o de um senhor de cartola, parece oco, assemelhando-se a um grande corvo, não voa, anda chumbado à terra, segue um trilho certo cravado ao solo com firmeza - esse berra alto, muito alto: "Posso lhe afirmar que é um degenerado, um inferior, as modificações que ele apresenta correspondem a diferenças bastardas, desprezíveis de estrutura física; vinte mil sábios alemães, ingleses, belgas, afirmam e sustentam"...
Assim vivo. E como se todo dia, delicadamente, de forma a não interessar os órgãos nobres da vida, me fossem enterrando alfinetes, um a um aumentando cada manhã que viesse... Até quando será? Até quando? fiz eu exuberante.
Uma rajada mais forte do vento que soprava quase apagava o combustor próximo. Ao cantar dos galos já se juntava a bulha do rolar de carroças na rua próxima. O subúrbio ia despertar. Despedi-me do salteador.
Andara alguns passos e como me parecesse que me chamavam, voltei-me e dei com a figura retangular do ladrão, agitando-se ao meneio de sua cabeça, como a venerável bandeira de misericórdia das execuções.
Pelos anos em fora, pelos dias iguais e monótonos que minha vida presenciou, mais fundo que essa incurável mágoa muito sofrida na mocidade, doeu-me à minha alma mais, muito mais a sincera piedade que inspirei àquele homem.
A INDÚSTRIA DA CARIDADE
Era dia de moda. A confeitaria regurgitava. Aqueles móveis de falsa laca, muito pechisbeques e pernósticos, davam a tudo um ar de fatuidade e presunção. A freqüência especial de cavadores, gigolôs, "melindrosas", "guitarristas", bobos-alegres, etc., enchiam o salão, sentados ao redor das mesinhas, olhando, de quando em quando, de soslaio os espelhos que o circundavam.
A um canto, abancados a uma mesa, tendo uma garrafa de Canadian em frente, dous amigos conversavam. Eram sibaritas desses lugares. Gozam em contar um ao outro o que sabem da vida faustosa dessa gente que, rica de uma hora para outra, se empavesa de repente com cousas caras, tal e qual um régulo africano que, nos salvados de um naufrágio, achando um fardão de oficial de marinha, o veste, põe o chapéu armado e fica de pés no chão. Os dous amigos tinham esse prazer, esse “gozo" de andar pelas reuniões públicas, tidas como da moda, para "biografar" os freqüentadores.
Já tinham passado em revista a toda a sala e, com desgosto, viram que todo o pessoal era "conhecido".
Afinal, deram com uma família "desconhecida" que procurava esconder as suas maneiras de Catumbi, com uma morgue procurada e sob trajes caros no rigor da moda.
O mais velho, o Chichorro, perguntou ao mais moço, o Veiga: - Quem é aquela gente? Tu conheces? - Sim; conheço, Chichorro; aquela gente é típica, é a mais pura representação da época. É a família do major Almério que é aquele de cinzento.
- Major! então não é dos "novos"? - Qual! É da Guarda Nacional, filho! - Quem é aquele que tem uma pasta, no último mês de gravidez, e está ao lado do tal Almério? - Aquilo não é uma pasta; é uma “guitarra". Aquele sujeito é um advogado que anda metido com contrabandistas e gente que tal.
- Compreendo... Ele, o tal Almério, é "guitarrista" também? - Não. É homem honesto; exerce legalmente a Indústria da Caridade.
- Indústria da Caridade! Tens cada uma - livra! - Lembras-te dos da Renée Mauperin? - Lembro-me; e como não me havia de lembrar desse livro que me causou tanta emoção? - Pois bem. Há lá um personagem, cujo nome não me recorda agora, que diz: o furto é a maior indústria do nosso tempo. Os autores do Renée dizem que estudam, nesse livro, a burguesia ou um povo burguês de 64; há, portanto, quase sessenta anos que isso era corrente. Hoje ainda contínua a ser; mas uma indústria nova apareceu ultimamente.
- Qual é? - A da Caridade.
- Meu Deus! Isto é uma blasfêmia! - Mas é uma verdade.
- ? ...
- Vou te mostrar como o é. Este Almério, há menos dez anos passados, morava em Bonsucesso, numa casinha, pela qual pagava trinta ou quarenta mil-réis. Vivia sabe Deus como. O aluguel da casa era pago com o produto das costuras da mulher e da filha mais velha, que tinha, por esse tempo, dezesseis anos; e o resto os vizinhos e amigos forneciam. Ele vinha todo dia à cidade, a ver se arranjava alguma cousa, qualquer lugar, mesmo de servente em qualquer repartição pública. Era, porém, caipora, nada obtinha; mas não desanimava.
Veio uma agitação política, por ocasião de uma sucessão presidencial, e ele viu bem que o "caminho do burro" era ser do partido do candidato popular. Recordas-te da anedota de Diderot com Rousseau? - Qual? - Aquela da resposta a dar à Academia de Dijon: - "se o progresso das ciências e artes tinha contribuído para a felicidade do gênero humano?" - Sim; lembro-me, pois não. Rousseau queria responder afirmativamente; mas Diderot disse-lhe que seria burrice: devia responder negativamente.
- Foi o que fez o nosso major. No negócio presidencial, respondeu - não; foi contra a opinião geral e acertou. Entrou para uma junta a favor do candidato execrado; fizeram-no major da Guarda Nacional e recebia uma diária pelo serviço de meetings, etc.
Começou a jantar e a almoçar diariamente, e a família também. Os seus horizontes se alargaram. Não quis mais emprego, fosse qual fosse. Pensou cousa melhor.
- Que fez? - Planejou um hospital de crianças. Interessou jornalistas e repórteres do partido da cousa. Recebeu donativos, o governo federal cedeu-lhe o velho edifício do hospital da brigada e casas adjacentes, restauradas, deu-lhe uma subvenção; o governo municipal, outra. Ele se instalou num palacete, mobiliado com remanescentes das subvenções, que lhe dão também para comer e vestir-se luxuosamente, ele, mulher e filhas.
- Como se mantém nessa “mamata"? - À custa de manifestações a tudo quanto é impopular, portanto, do agrado do "poder".
- Talvez tenha razão, porque nem tudo o que é popular é justo.
- Não há dúvida, caro Chichorro. Noto um fato social e mais nada.
- O papai Basílio fez pior, com o seu Asilo de Santa Rita de Cássia - caso que muito contribuiu para a fama do nosso atual desembargador Ataulfo... Como o tempo corre, hein? - É verdade. Valha-nos isto: Almério não repetiu o papai Basilio.
Sorveram um trago de uísque e, com o pensamento longe, puseram-se a olhar a sala sem nada ver ao centro e sem trocarem palavra.
A família do major levantou-se e todo o rancho passou por perto dos amigos que sonhavam, mergulhados naquele burburinho de vaidades.
O homem da “guitarra” disse bem alto e cheio de suficiência: - Consinto em ir jantar com "vocês"; mas com uma condição: eu pago o automóvel.
UMA CONVERSA
- Disse-te ainda há pouco, falou o Zeca Magalhães, na mesa de chopes em que estávamos, que não tinha certeza das minhas sensações e, portanto, não tinha nenhuma das minhas idéias. Não é o momento de te citar filósofos, nem organizar raciocínios rimados. Conto-te somente um caso ilustrativo, cheio de proveitosos ensinamentos.
Pegou do copo e sorveu um segundo chope, enquanto eu via, numa mesa ao lado, um gordo alemão com um focinho de porco Yorkshire, acompanhado da mais linda alemã que foi dado aos olhos de um carioca, que nunca saiu da sua cidade natal, ver e contemplar.
- Zeca, disse eu, a meia voz, vê que alemã bonita.
- Era disso mesmo que eu queria falar, fez ele descansando o copo.
- Da alemã? - Relaciona-se. Eu estava no teatro... Foi há vinte anos, ou mais. Estava no teatro, no jardim, quando vi uma mulher. Que beleza era! Tinha uns olhos, um nariz! E que boca! - Pintura.
- Qual! Ouve. Olhei-a demoradamente, analisei traço por traço, via-a na luz, pus-me mais perto e a impressão continuava a mesma, e até crescia. Ao sair, acompanhei-a... tu sabes o resto? Pela manhã, quando acordei e contemplei a mulher, sob a luz do sol, não era a mesma! Cos diabos! fiz eu. Querem ver que me trocaram a mulher? Nada disso, despedi-me com toda a conveniência e saí. O caso não me saiu da cabeça. Eu a tinha visto no teatro, em plena integridade dos meus sentidos; tinha analisado detalhadamente - como era então que a mulher que eu via, às oito horas da tarde, não era a mesma de quem me despedi às seis da manhã do dia seguinte? Pintura? Não foi, eu tinha reparado bem. Voltei à sua casa dias seguintes. Examinei-a bem, traço a traço, comparei-a com as duas imagens que tinha dela - a das oito da tarde e a das seis da manhã.
Nada lembrava a primeira, sendo exatamente igual à segunda. Voltei ao teatro, estive a lhe falar - era ainda a segunda imagem, a mais próxima. Estava doido naquela noite! pensei. Rememorei o que fizera naquele dia e nos precedentes ao meu encontro com a tal italiana.
Lembrei-me que tinha recebido umas estampas de grandes obras de escultura e, na sua contemplação, gastara horas seguidas de uma atenção absorvente. Estava aí a causa do erro! Sobre os seus traços verdadeiros, ou antes, os mais reais, eu tinha depositado a imagem anterior da grande beleza que me ficara do livro; e, quando de manhã, com a fadiga, etc., ela se esvaiu, ficou mais ou menos a mulher comum, fugindo por completo a idéia anterior com que eu a resvestira.
Daí concluí, não sem ligeireza, que essa nossa mania de beleza é um contágio dos delirantes sonhos de alguns homens, dados a loucuras de Arte, exacerbados com os delírios das tradições de antigas raças e sofrendo a tirania dos ideais belos; é que as nossas sensações são interpretadas pelo nosso entendimento, de acordo com as imagens de certos padrões, que já estamos predispostos a recebê-las...
- Concordo em parte; mas daí podias concluir que a Arte é útil, estimula o Amor, a eternidade da vida...
- Quanto a isto, não; há nas boticas outros sucedâneos menos perigosos.
Não havia uma hora que eu o tinha visto terno; agora estava desabusado, cinicamente brutal, cobrindo com um sarcasmo o que sempre o vira engrandecer.
- Entretanto, observei, para que a visses assim, era preciso que ela tivesse alguma coisa da tal estampa que se te gravara no cérebro.
- Estava talhada para isso... No momento, possui uma disposição qualquer, nos seus elementos fisionômicos, capaz de suscitar e de emitir a imagem que eu já tinha, nos seus traços vivos.
Bebíamos o quinto chope, e, embora por estas alturas, eu sempre fique mais inteligente e animado, naquela noite, a fadiga não mo permitiu. Despedi-me.
A CARTOMANTE
Não havia duvida que naqueles atrasos e atrapalhações de sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentar qualquer cousa, logo tudo mudava. Esteve quase para arranjar-se na Saúde Pública; mas, assim que obteve um bom "pistolão", toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte ou o anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para adiante.
Se não fossem as costuras da mulher, não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há cinco anos que não recebia vintém de seu trabalho.
Uma nota de dois mil-réis, se alcançava ter na algibeira por vezes, era obtida com auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos amigos.
Queria fugir, fugir para bem longe, onde a sua miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada; mas, como fugir? Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse, a ele, a mulher e aos filhos? Viver assim era terrível! Preso à sua vergonha como a uma calceta, sem que nenhum código e juiz tivessem condenado, que martírio! A certeza, porém, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa, deu-lhe mais alento. Se era "coisa feita", havia de haver por força quem a desfizesse. Acordou mais alegre e se não falou à mulher alegremente era porque ela já havia saido. Pobre de sua mulher! Avelhantada precocemente, trabalhando que nem uma moura, doente, entretanto a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal.
Ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro, e aquele angustioso lar ia se arrastando, graças aos esforços da esposa.
Bem! As cousas iam mudar! Ele iria a uma cartomante e havia de descobrir o que e quem atrasavam a sua vida.
Saiu, foi à venda e consultou o jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos anunciados; mas simpatizou com uma cartomante, cujo anúncio dizia assim: “Madame Dadá, sonâmbula, extralúcida, deita as cartas e desfaz toda espécie de feitiçaria, principalmente a africana. Rua etc.".
Não quis procurar outra; era aquela, pois já adquirira a convicção de que aquela sua vida vinha sendo trabalhada pela mandinga de algum preto mina, a soldo do seu cunhado Castrioto, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã.
Arranjou, com o primeiro conhecido que encontrou, o dinheiro necessário, e correu depressa para a casa de Madame Dadá.
O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria à casa; compraria um terno para o Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça; e aquela cruciante vida de cinco anos havia de lhe ficar na memória como passageiro pesadelo.
Pelo caminho tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce, um sol de junho; eram as fisionomias risonhas dos transeuntes; e o mundo, que até ali lhe aparecia mau e turvo, repentinamente lhe surgia claro e doce.
Entrou, esperou um pouco, com o coração a lhe saltar do peito.
O consulente saiu e ele foi afinal à presença da pitonisa. Era sua mulher.
NA JANELA
-Você sabe: o Alfredo não me trouxe o broche.
- Que desculpa ele deu? - Que o sete não tinha dado a noite toda...
- Vai ver, Mercedes, que ele foi gastar com a Candinha... Ah! os homens! São uns malandros! - Não sei, mas... enfim todos eles são iguais.
- No começo é aquilo, parece que a gente é pouca ou que eles são muito mais. Vivem atrás de nós, descobrem, adivinham os nossos pensamentos; depois... não sei o que dá neles... esfriam, esfriam...
- Meu marido foi assim. No tempo de noivo, nem sabia falar quando estava perto de mim; olhava-me só e o seu olhar parecia que me vestia, que me beijava, que me ameigava... Meses depois de casada, deixou-me só, sem dinheiro, sem parentes, nesta cidade tão grande...
Bem fez você que não se casou! - Mas namorei...
- Muitos? - Sem conta! - Você não amou nenhum? - Não sei... Creio que todos me agradavam o bastante para casar.
- É difícil compreender.
- Ora, é fácil... Eu fui sempre engraçada. Aos treze anos, quando saía com meu pai, todos na rua me olhavam. Um dia até, no bonde, uma senhora de aparência rica, muito grande, muito alta, perguntou a meu pai: é sua filha? Sim, respondeu ele. A senhora olhou-nos muito, a mim e a ele, virou a cara e sorriu duvidosa. Aos quatorze, tive o primeiro namorado. Era o caixeiro da venda... Um portuguesinho louro, que dizia "binho", "benda", mas com uns olhos azuis cor do céu pelas bonitas manhã. E daí não parei mais. Tive um segundo, um terceiro... quando cheguei ao quinto já escrevia cartas. Minha mãe pegou uma e deu-me uma surra; mas não me emendei - continuei. Não sabia resistir... Eles choravam, juravam.., e eu namorava quase ao mesmo tempo. Era como se - em grande riqueza inesgotável - não negasse esmolas. Você sabe: quando se tem muito vai se dando. Parece que não acaba; mas acaba e então chora-se pitanga. Fui assim: pediam-me beijos, abraços, cabelos; e eu dava por pena, unicamente. Se eu tivesse sido mais sovina, não estava "nesta vida"... E a sorte, que se há de fazer? - Mas, e o “tal”? - É verdade! Um dia fui a um baile, como sempre, tinha lá uma chusma de adoradores; mas apareceu um novo. Não sabia quem era, muito diferente de todos. Educado, parecia doutor ou estudante de verdade, de estudos difíceis. Olhou-me e eu olhei, e namorei-o. Não troquei palavra. Dancei com ele e o ouvi falar a um outro. Que voz! Antes da meia-noite saiu. No outro ano, em dia de festa na mesma casa, já não pude ir lá mais; tinha vindo a tal encrenca... corpo de delito...
Você sabe... Não deu em nada; ou antes: deu "nisto".
- Nunca mais você viu “ele"? - O "tal"? Há dois anos que sempre o vejo na rua do Ouvidor, nos teatros...
- Ele não fala com você? - Não. Olha-me um instante e baixa a cabeça.
- Engraçado! Outro qualquer...
- É verdade! Perguntei quem era, disseram é um doutor fulano de tal e é solteiro.
- Mas nunca você procurou falar com ele? - Só uma vez. Cheguei-me e sem mais aquela sentei-me à mesa em que estava. Perguntei-lhe se não me conhecia. De vista, respondeu.
Se não tinha ido a um baile assim, assim. Nunca! afirmou. Contei-lhe então a história e indaguei-lhe se, de fato, fosse ele não se daria a conhecer. Hesitou e, por fim, respondeu-me umas cousas embrulhadas que, afinal, me pareceu quererem dizer que eu, a menina do baile, era outra cousa que não sou eu mesma atualmente; e quem me tinha visto no baile não me via ali, num jardim de teatro.
- Era um tolo; um...
- Não. Eu o vi, mais tarde, muito alegre, com uma outra no automóvel...
Nos elétricos que passavam, os passageiros que olhavam aquelas duas mulheres com olhares cheios de desejos não seriam capazes de adivinhar a inocência de sua conversa, na janela de uma casa suspeita.
DESPESA FILANTRÓPICA
Quando ele me chegou à porteira de casa, acompanhado de outro sujeito mal-encarado, não o reconheci. Ele entrou a meu convite para a sala; sentou-se mais o companheiro e mandei servir-lhes café. Enquanto o café era esperado, ele se deu a conhecer. Aí é que foi a minha surpresa.
- Por quê? acudiu o amigo que ouvia o fazendeiro.
- Por quê?... Porque era um dos mais famosos assassinos do lugar.
- Diabo! Que visitante recebias tu com tanta distinção! - Foi mesmo o diabo! E fiquei contrariado em recebê-lo em casa. Se soubesse quem era, teria dado "pouso" em qualquer dependência da fazenda e evitado que ele me entrasse em casa; mas... o que estava feito, estava feito, tanto mais...
- Sim; porque se fizesse qualquer jeito de contrariedade, ele talvez te desfeiteasse.
- Com toda a certeza! E, conquanto já estivesse habituado à vida daqueles lugares bravios, onde a coragem pessoal, mesmo com certa jactância, é indispensável, não me convinha absolutamente ter questão com semelhante sujeito que era o tipo acabado do interior do Brasil.
- Há esse tipo? - Há, pois não.
- Qual é o traço característico? - É a futilidade dos móveis do crime e a capacidade de matar a mandado de outrem. No interior, a mais simples rixa por causa de uma questão de compra e venda leva um sujeito ao assassinato. Uma frase assim, assim, que o Fagundes ouvia da boca do Antônio, como tendo, sobre ele, sido proferida por seu inimigo Orestes, determina que o Fagundes mate Orestes. Conto-te um caso: o Madruga se havia separado da mulher que se prostituíra e fora morar numa cidade distante. Passam-se anos e Madruga vai prosperando com o seu negócio no vilarejo. Parecia esquecido de sua infelicidade conjugal, quando lhe chega aos ouvidos que a sua mulher tresmalhada, no auge daquelas grosseiras orgias sertanejas, o injuriava com frases pesadas. Ele que faz? Arma-se, monta a cavalo e vai procurar a mulher na sua triste residência. Engabela-a e a mata. Consegue escapar, volta ao vilarejo, onde tinha negócio; espalha a "boa nova" do que fizera; publica, no jornal local, o seu retrato e o da mulher, a peso de dinheiro; e espera tranqüilamente a ação da justiça.
- É incrível! - Pois é, meu caro Felício. O caipira, o matuto, o Jeca, como se diz atualmente depois de Monteiro Lobato, mata mais por vaidade do que mesmo por vingança, crueldade ou por tara. De forma que ser valentão, matador, é lá um título de honra e os assassinatos cometidos são como condecorações de ordens reais e imperiais. Sendo assim, nada mais fácil do que achar quem aceite encomendas de "mortes”.
- O teu visitante quantas já tinha? - Três; e era bem moço, de mais ou menos vinte e cinco anos.
- Como te livraste dele? - Vou te contar. Estivemos conversando e ele me narrava proezas, expondo, ao mesmo tempo, a maldade de seus inimigos e a vingança que havia de tirar deles. Hás de supor que falava com raiva.
- Não? - Qual! Falava com a calma mais natural deste mundo, empregando os mais lindos modismos do dialeto caipira. Num dado momento sacou da cinta uma imensa pistola parabélum e disse: "esta bicha tá virge, mas ela corre que nem veado". Era uma magnífica arma de treze tiros, com alcance de mais de mil metros. Pedi-lhe que ma deixasse ver. Examinei-a, pensando tristemente no esforço da inteligência que representava aquele aparelho, e que, entretanto, estava destinado a tão má aplicação. De repente perguntei ao assassino: "Aluísio, você quer vender esta arma? Dou trezentos mil-réis".
Ele não pensou - porque Jeca está sempre disposto a fazer negócio, barganha e rifas - e disse: "Dotô, nós faz negoço". Dei-lhe o dinheiro, fiquei com a arma; e ele se foi, para voltar mais tarde. Voltou, de fato; mas, sabes o que ele trazia quando voltou? - Não.
- Um rifle Winchester que comprara por duzentos mil-réis. Eis em que deu minha despesa filantrópica.
O CAÇADOR DOMÉSTICO
O Simões era descendente de uma famosa família dos Feitais, do estado do Rio, de que o 13 de maio arrebatou mais de mil escravos.
Uma verdadeira fortuna, porque escravo, naquelas épocas, apesar da agitação abolicionista, era mercadoria valorizada. Valia bem um conto de réis a cabeça, portanto os tais de Feitais perderam cerca ou mais de mil contos.
De resto, era mercadoria que não precisava muitos cuidados.
Antes da lei do Ventre Livre, a sua multiplicação ficava aos cuidados dos senhores e depois... também.
Esses Feitais eram célebre pelo sadio tratamento de gado de engorda que davam aos seus escravos e também pela sua teimosia escravagista.
Se não eram requintadamente cruéis para com os seus cativos, tinham, em oposição, um horror extraordinário à carta de alforria.
Não davam uma, fosse por que pretexto fosse.
Conta-se até que o velho Feital, tendo um escravo mais claro que mostrava aptidões para os estudos, dera-lhe professores e o matriculara na Faculdade de Medicina.
Quando o rapaz ia terminar o curso, retirara-o dela, trouxera-o para a fazenda, da qual o fizera médico, mas nunca lhe dera carta de liberdade, embora o tratasse como homem livre e o fizesse tratar assim por todos.
Simões vinha dessa gente que empobrecera de uma hora para a outra.
Muito tapado, não soubera aproveitar as relações de família, para formar-se em qualquer cousa e arranjar boas sinecuras, entre as quais a de deputado, para a qual estava a calhar, pois de família do partido escravagista-conservador, tinha o mais lindo estofo para ser um republicano do mais puro quilate brasileiro.
Fez-se burocrata; e, logo que os vencimentos deram para a cousa, casou com uma Magalhães Borromeu, de Santa Maria Madalena, cuja família também se havia arruinado com a Abolição.
Na repartição, o Simões não se fez de trouxa. Aproveitou as relações e amizades de família, para promoções, preterindo toda a gente.
Quando chegou, aí, por chefe de seção, lembrou-se que descendia de gente de lavoura e mudou-se para os subúrbios, onde teria alguma idéia da roça, onde nascera.
Os restos de matas que há por aquelas paragens deram-lhe lembranças saudosas da sua mocidade nas fazendas de seus tios.
Lembrou-se que caçava; lembrou-se da sua matilha para caititus e pacas; e deu em criar cachorros que adestrava para a caça, como se tivesse de fazer alguma.
No lugar em que morava, só havia uma espécie de caça rasteira: eram preás porém nos capinzais; mas, Simões, que era da nobre família dos Feitais de Pati e adjacências, não podia entregar-se a torneio tão vagabundo.
Como havia de empregar a sua gloriosa matilha? À sua perversidade inata acudiu-lhe logo um alvitre: caçar os frangos e outros galináceos da vizinhança que, fortuitamente, lhe iam ter no quintal.
Era ver um frango de qualquer vizinho, imediatamente estumava a cachorrada que estraçalhava em três tempos o bicharoco.
Os vizinhos, acostumados com os pacatos moradores antigos, estranharam a maldade de semelhante imbecil que se fazia mudo às reclamações da pobre gente que lhe morava em torno.
Cansados com as proezas do caçador doméstico de frangos e patos, resolveram pôr termo a elas.
Trataram de mal-assombrar a casa. Contrataram um moleque jeitoso que se metia no forro da casa, à noite, e lá arrastava correntes.
Simões lembrou-se dos escravos dos seus parentes Feitais e teve remorsos. Um dia assustou-se tanto que correu espavorido para o quintal, alta noite, em trajes menores, com o falar transtornado. Os seus molossos não o conheceram e o puseram no estado em que punham os incautos frangos da vizinhança: estraçalharam-no.
Tal foi o fim de um dos últimos rebentos dos poderosos Feitais de Barra Mansa.
Contos Argelinos
SUA ALTEZA IMPERIAL JAN-GHOTHE
Abu-Al-Dhudut gozava placidamente o trono do país de Al- Patak, que ele tinha usurpado da maneira mais inconcebível.
Sabia que era impopular, que o povo ridicularizava com canções satíricas a sua pessoa desgraciosa e proclamava também os seus méritos intelectuais com anedotas hilariantes.
Isto, porém, não o aborrecia, porque, tendo a mesa farta, um harém sortido e sobretudo honras das tropas, dos caids e presentes dos príncipes estrangeiros, ele se satisfazia e se julgava um grande sultão igual àqueles que ilustraram o trono de Al-Patak.
De quando em quando, tinha desejos de se fazer notável e tomava alvitres singulares. Certa vez quis ser protetor das letras e fundou uma academia no seu palácio. Nem de propósito: Dhudut juntou nela tudo quanto foi mau rimador na cidade.
Em outra, entendeu em dar casas baratas a toda gente e gastou na construção delas tanto dinheiro que foi preciso lançar pesados impostos para que o tesouro não ficasse vazio. Tal cousa veio redundar no seguinte: o artífice pagava mais barata a casa, mas comprava pelo dobro a passagem e os alimentos. Assim mesmo, os engrossadores proclamaram-no él-mézuar, que quer dizer, segundo alguns - o pai dos operários.
Para uma única cousa ele tinha jeito: era para criar aduladores.
Calcularam os sábios que cada adulador custava, uns pelos outros, ao tesouro público cinco libras por dia e que, com eles, Abu-Al-Dhudut gastou no seu curto reinado cerca de vinte mil contos na nossa moeda.
Impopular e odiado, por causa de suas vexações e crueldades, quis ter dedicações; e, para isso, abriu as portas das prisões aos criminosos condenados e não prendia os que eram apanhados em flagrante.
A capital do Estado ficou assim entregue aos malfeitores que, não contentes com a espórtula que recebiam do chefe de polícia - kaïa - extorquiam, sob ameaça, dinheiro aos mercadores.
Para os cargos do governo, para os principados vassalos, ele nomeava parentes obscuros e sem saber, chegando até a fazer ulemá do Beit-El-Mal, juiz das heranças, um seu primo que não sabia ler o Corão.
O povo de Al-Patak é manso e ordeiro, por isso ele vivia sossegado, tramando violências com o seu vizir Pkent-Phin', um homem cruel e violento, que fora na sua mocidade criador e castrador de cavalos.
Não contava, portanto, com nenhum levante do povo e passava a vida na mesa e no harém, em passeio e festas, sem cuidados nem incômodos.
Os seus parentes também levavam a vida da mesma forma, tanto mais que haviam ficado ricos com as riquezas do Estado e com os presentes que recebiam em troca de proteção a este ou àquele.
Um dia veio, porém, que, não se sabe como, o povo se levantou, levou a tropa de vencida, varou as muralhas que cercavam o palácio de Abu-AI-Dhudut e tratou de pô-lo na rua.
Embora o sultão tivesse ficado com muito medo, não quis logo sair pelo caminho escuso que lhe ensinava haver o seu fiel eunuco Brederodes. Quis ainda carregar algumas riquezas e correu aos subterrâneos do palácio.
Esperava encontrar lá cequins de ouro, aos sacos; diamantes, pérolas, rubis, topázios, safiras, barras de ouro, enfim, riquezas sem número que haviam sido amontoadas pela longa geração de vinte sultões.
Desceu escadas secretas, sempre acompanhado do seu fiel Brederodes, enquanto o povo ululava diante das portas do palácio e as mulheres do harém ganiam e soltavam gritos estridentes, os quais não lhe davam nenhuma pena. Descia com febre e obsedado.
Chegado que foi ao tesouro, o guarda veio abrir-lhe a porta chapeada, couraçada e lenta de mover nos gonzos.
O sultão logo perguntou: - Onde estão os diamantes, escravo? O guarda respondeu: - Saberá Vossa Majestade que o VOSSO sublime irmão, sua Alteza Imperial Jan-Ghothe, levou-os todos? - E os cequins? e a prata? e as pedrarias? O guarda, com todo o respeito e muita calma, respondeu: - Saberá Vossa Majestade que o vosso sublime irmão, sua Alteza Imperial Jan-Ghothe, levou tudo.
Abu-AI-Dhudut quase desmaiou; e, chorando, disse para o eunuco: - Brederodes, como sou desgraçado! Não ficou nada para mim!
ELKAZENADJI
O reinado de Abu-Al-Dhudut foi curto, mas cheio de episódios interessantes que o cronista argelino cide Mohâmmed Ben-Alá conta do modo mais ingênuo ao mesmo tempo florido, capaz de fazer o delicioso encanto dos mais habituados à literatura árabe.
A tradução que vamos dando, além da resumida, fana muito o viço da luxuriante floração do original; mas, se tempo houver e editor, havemos de dar uma completa, respeitando o mais possível as palavras do autor argelino, assim como o seu rendilhado pensamento.
Contemos.
Escolheu Abu-Al-Dhudut, nos últimos dias de seu reinado, para ser o seu kazenadji (ministro dos negócios internos do reino), um levantino de nome cide Ércu Ben-Lânod muito estimado pelas suas letras e sabido nelas como o mais douto ulemá.
Cide Ércu Ben-Lânod tinha vivido muito tempo em Marselha, como cônsul de Abu-Al-Dhudut; e, fosse pela sua origem infiel, fosse pelo tempo que levou naquela cidade de França, o certo é que contraiu todos os vícios dos cristãos, especialmente dos francos. Feito kazenadji, ganhando muitos presentes e dispondo do tesouro do sultão, era de esperar que cide Ercu Ben-Lânod aumentasse as mulheres do seu harém e vivesse sabiamente entre elas, como mandam o Profeta e os livros sagrados. Não tinha em grande conta os preceitos do Corão e, apesar dos conselhos de um dos seus sogros, cide Glei Ben-Sério, continuou nos seus sacrílegos hábitos de passar as noites fora de sua casa, em visitas amaldiçoadas a certos lugares da feitoria francesa que ficava perto da capital de Al-Patak. Não contente com ir ele a tão daninhos lugares, seduziu muitos bons muçulmanos a fazer o mesmo.
Um destes era o kaïa, Pessh Ben-Hoa, que vem a ser entre nós o chefe da polícia militar. Não deixava este funcionário de, todas as noites, acompanhar cide Ércu Ben-Lânod nas suas profanações às regras e preceitos do Profeta.
Ambos, chegados que eram à feitoria, logo se encaminhavam para uma grande casa de uma velha francesa, de nome Susah-Hana, a que chamavam - Cidade das Flores; e entregavam-se a todos os pecados que a religião proíbe.
Deixavam-se arrastar pelo vício de beber licores espirituosos, coisa que mais depressa faz com que entreguemos as nossas almas aos espíritos malfazejos; e cercavam-se de mulheres infiéis, mediante alguns cequins de ouro, com as quais tinham propósitos mais próprios de se os ter com as verdadeiras esposas.
A religião do Profeta dá a tal respeito tão grande liberdade que não se podia acreditar que aqueles fiéis tivessem prazer em fazer semelhante cousa, fora da comunhão dos crentes.
Mas cide Ercu Ben-Lânod tinha tomado tal gosto por aquele vinho dos francos que borbulha e ferve como os gases danados das entranhas da terra, que não havia meio de deixar de ir uma noite à casa da velha Susah-Hana.
O kaïa (o chefe da polícia militar) também se havia habituado e não deixava de acompanhar o kazenadji.
Certa noite, em que eles tinham bebido bem doze odres do tal vinho, estando, como de costume, na Cidade das Flores, cide Ercu Ben-Lânod deu em altercar com o seu companheiro: - Tua tropa não presta pra nada! Os franceses sim é que têm tropa.
O kaïa, que era um chefe orgulhoso e patriota, ficou indignado com o despropósito do ministro e respondeu: - Se tu queres ver, cide Ercu Ben-Lânod, vou agora mesmo formá-la e cercar o palácio de Abu-AI-Dhudut.
- Quero ver, disse o outro.
O kaïa, meio trôpego e balançando-se que nem uma fragata franca no porto de Argel, levantou-se, veio até à porta, chamou um spahi (soldado de cavalaria) e deu as suas ordens.
Os dois ficaram dormindo e a força do kaïa cercou o casbá (palácio do sultão), como lhe tinha sido ordenado.
Foi um espanto geral e as tropas do agha (ministro da Guerra) acudiram; houve combate, morrendo de parte a parte cerca de dois mil homens.
Cide Ércu Ben-Lânod e o kaïa Sirdar Pessh Ben-Hoa despertaram na tarde seguinte e nunca a cidade pôde saber por que motivo as tropas do último tinham cercado o casbá e guarnecido as estradas que iam ter a ele.
O JURAMENTO
Logo que Abu-Al-Dhudut se apossou do trono de AI-Patak, todos os seus companheiros e amigos quiseram também fazer o mesmo nos remos vassalos, embora muitos dos soberanos destes tivessem ajudado Abu na sua usurpação.
O primeiro agha (ministro da Guerra) ansiava por ocupar o governo do canato de Al-Súgar, região rica e vasta, que até ali era governada pelo cã Ross Al-Xeiroso. Este príncipe não se incomodava muito com a administração dos seus domínios e vivia em passeios e festas, fora da sua capital.
Poderoso e rico, tinha ajudado muito Abu-Al-Dhudut a subir no trono de Al-Patak, de forma que todos supunham que as pretensões do agha não seriam favorecidas pelo novo sultão.
O agha, porém, não se incomodou com os serviços que Ross Al-Xeiroso tinha prestado a seu amo e senhor e tratou de encher o canato de Al-Súgar de spabis, bombardeiros e outras tropas irregulares, sob o pretexto de que as tribos do deserto ameaçavam a capital do canato e Ross AI-Xeiroso nada fazia, deixando-se ficar entregue aos prazeres e folguedos.
Este príncipe, vendo que o agha continuava nos seus propósitos de usurpação, pediu uma audiência a Abu-Al-Dhudut, no que foi imediatamente atendido.
Recebeu-o Abu no divã do casbah (palácio imperial) e fez todas as promessas ao príncipe vassalo: - Ross AI-Xeiroso, juro pelos santos livros, pelo Corão, que prefiro pôr termo aos meus dias do que te ver fora do governo de Al-Súgar.
Ross Al-Xeiroso saiu seguro de que continuaria no governo e que seu filho herdaria a sua coroa de príncipe, mantendo a sua descendência nela.
Em breves dias, porém, soube que agha tinha mandado mais tropas para os seus domínios.
Correu de novo a Abu-Al-Dhudut, que lhe reiterou as promessas feitas.
Ross AI-Xeiroso voltou a divertir-se alguns dias, quando teve notícias que o agha, à frente das tropas que para lá tinha enviado, tomara conta do governo de Al-Súgar e, como cã, fora reconhecido por todos, inclusive por Abu-Al-Dhudut.
Esperou ainda alguns dias a ver se o sultão se matava; ele, porém, continuou a viver a melhor das saúdes.
Ross Al-Xeiroso, contudo, espera até hoje que Abu-Al-Dhudut cumpra a sua palavra santa de sultão e chefe dos crentes.
A FIRMEZA DE AL-BANDEIRAH
Abu-Al-Dhudut não usurpou o trono de AI-Patak sem que houvesse grande oposição por parte dos espíritos eminentes e mesmo de províncias inteiras do país.
A todas estas, ele subjugou e dominou, excetuando o canato de AI-Bandeirah cuja riqueza e prosperidade eram muito admiradas no pais.
Esse canato era governado por quatro ou cinco famílias que, sob o pretexto de terem feito a independência de Al-Patak e o proclamado sultanato, se sucediam no governo da província e a exploravam em seu proveito, tanto nos altos cargos, como no monopólio de bancos, indústrias e a exportação de tâmaras.
Sob o disfarce de auxiliar a lavoura desse fruto, os membros dessas quatro ou cinco famílias conseguiam dos soberanos privilégios e auxílios pecuniários que engrandeciam as suas indústrias, tornavam sem concorrentes os seus produtos e favoreciam grandes lucros nas suas explorações agrícolas.
Temendo que Abu-Al-Dhudut não continuasse, como os seus antecessores, a lhes dar tudo o que pediam, armaram uma grande oposição ao seu governo, agitaram os espíritos e fizeram com que muita gente perdesse haveres, cargos e até a vida.
Abu-Al-Dhudut, quando se viu seguro no trono, tratou de invadir a província e castigá-la conforme entendesse.
Organizou tropas e dispôs as cousas de forma a vencer os recaí cítrantes de Al-Bandeírah.
O povo dessa província pôs-se como uma só pessoa ao lado dos oligarcas que o governavam com muita habilidade e tal era esta que ninguém podia supor que o que eles defendiam eram os seus interesses particulares de donos de bancos, de chefes de casas comerciais, de proprietários de minas e fábricas, de ricos cultivadores de tâmaras.
O entusiasmo e o ardor da população pela causa de sua autonomia eram tais que tudo fazia esperar que a guerra civil rebentasse. Mas, como os membros das famílias que governavam AI-Bandeirah eram antes de tudo homens de negócios, de especulação comercial e não tinham interesse em guerrear, mas sim amedrontar Abu-Al-Dhudut de modo a que este não perturbasse as suas existências regaladas, trataram de arranjar as cousas de modo mais cômodo, tanto mais que o sultão continuava no seu propósito de intervenção.
Pondo de parte tudo o que tinham afirmado com tanta altivez, procuraram um príncipe da família de Abu e arranjaram, por alguns milhares de piastras e outros dons, que não houvesse a invasão projetada.
Dessa maneira eles continuaram a fruir e a aumentar as suas riquezas, embora tivessem arrastado, com a agitação que fizeram, com os juramentos que juraram, muita gente á miséria, á enxovia e á morte.
O DESCONTO
Como foi contado aos leitores, o canato de Al-Bandeirah, depois de arrotar muita farofa, que fazia e acontecia, acabou por comprar a não-invasão das tropas de Abu-Al-Dhudut por bom dinheiro.
Essa província de Al-Bandeirah, como se sabe já, é governada por vários magnatas e algumas famílias, entre aqueles conta-se o cide Cinsin Ben-Nhato, que é, a bem dizer, o general da oligarquia do canato.
Ele, quando os tais cultivadores de tâmaras gastam á vontade e ficam encalacrados, corre ao sultão e diz cheio de choro e lábia: - Majestade; os cultivadores de tâmaras estão morrendo de fome; o produto da venda não paga as despesas que dá o seu cultivo; os grandes empregam toda a sua fortuna para que ele baixe.
Ai ele faz uma pausa e continua alteando a voz: - E preciso que Vossa Majestade cá ao encontro das necessidades dessa pobre gente que tanto concorre para a grandeza do reino que é de Vossa Majestade.
- Mas como, cide? - Como? Dando-lhes dinheiro, Majestade.
- Não tenho. O meu tesouro está esgotado.
- Majestade: o poder de Vossa Majestade é grande e há um meio.
- Qual? - Vossa Majestade decrete um imposto sobre os mendigos do reino que haverá dinheiro para socorrer os miseráveis cultivadores de tâmaras.
Os sultões todos lhe fazem a vontade e os de Al-Bandeirah se blasonam de ricos e trabalhadores.
Há outros casos que hei de contar-lhes, mas agora quero lembrar um muito típico.
Os tais de Al-Bandeirah tinham, como já foi narrado, comprado um príncipe irmão de Abu-Al-Dhudut para que este não invadisse com as suas tropas o canato.
O príncipe, que era seguro, foi em pessoa buscar o preço do negócio.
Trotou várias e muitas léguas em camelo e chegou à capital da província ex-semi-rebelde.
Falou ao clã e este mandou ordem ao seu tesoureiro, para que lhe pagassem trezentos e cinqüenta mil piastras.
O irmão de Abu foi logo á presença do funcionário que lhe disse: - Príncipe: Vossa Alteza poderá ir para o palácio de Vossa Alteza que o dinheiro irá lá ter.
De fato assim foi e um empregado do tesouro lá chegou com os sacos de ouro.
Esperou este que o príncipe contasse o dinheiro. Acabou e exclamou furioso: - Mas faltam trinta e cinco mil piastras.
- Príncipe: é a minha porcentagem. Dez por cento.
O irmão de Abu calou-se.
A SOLIDARIEDADE DE AL-BANDEIRAH
Dos principados vassalos que constituíam o reino de Al- Patak não foi só Al-Bandeirah que não quis reconhecer Abu-Al-Dhudut como sultão.
O canato de Hbaya também, por intermédio do seu príncipe reinante, sempre protestou contra a usurpação. Ao contrário do primeiro, esse principado era trabalhado por grandes dissensões internas. Havia mais de cinco ou seis pretendentes ao seu trono e não existia entre os seus habitantes nenhuma harmonia de vistas.
A população com o seu gênio vivaz, com a sua queda para a eloqüência, com a sua ligeireza de espírito, muito concorria para essas divisões e ela é de gênio muito oposto à de Al-Bandeirah, cuja gente é tardia, taciturna e cheia de um ingênuo orgulho de que são os primeiros de Al-Patak. Explorado habilmente, pelos governantes, esse último sentimento da população daquela província, foi-lhes sempre fácil obter dela uma quase unanimidade. Faziam uma ponte, uma torre, um bueiro e logo mandavam proclamar que era o primeiro de Al-Patak. O povo do canato é ingênuo, como um alemão, acreditava na cousa, ficava muito contente e escolhia para as altas funções os membros de três ou quatro famílias que o exploravam.
Dessa forma, toda a resistência à usurpação de Abu-Al-Dhudut estava centralizada em Al-Bandeirah.
Acontece, porém, que, ao contrário do que era de esperar, Hbaya demonstrou mais firmeza e o seu governo chegou a resistir às tropas que o invadiram, com armas na mão.
A cousa foi dolorosa e triste, pois a capital de Hbaya foi bombardeada, as suas casas incendiadas, o príncipe reinante andou daqui para ali, fugindo à sanha dos soldados de Abu-Al-Dhudut.
Infelizmente, devido às facções que dividiam a gloriosa província, a resistência não pôde ser eficaz e foi quase nula em resultados.
Esse episódio comovedor do bombardeamento da capital de Hbaya se deu justamente no dia em que o príncipe irmão de Abu-Al- Dhudut recebia no tesouro de Al-Bandeirah trezentos e cinqüenta mil piastras, que, como já é sabido, ficavam reduzidas a trezentos e quinze mil.
O RECONHECIMENTO
A organização política do Al-Patak não é assim tão absoluta como se pode supor.
Em tese o sultão tem todos os poderes, mas, devido à tradição, à liberalidade de alguns soberanos, o reino possui tribunais e juízes independentes que decidem soberanamente sobre os assuntos que lhes são afetos.
Além disto, Al-Patak possui uma espécie de parlamento - o "divã" - que representa ao rei sobre as necessidades dos povos.
Cada província, conforme a população, dá um certo número de representantes que o são durante alguns anos, uns durante mais anos e outros menos.
Logo que Abu-Al-Dhudut usurpou o trono, tratou de reformar essa espécie de conselho de Estado.
Não há quem não queira fazer parte dele, não só pelos vencimentos que percebem os seus membros, como também pelos presentes que recebem, graças à influência que possuem, podendo obter dos soberanos tudo o que desejam.
O príncipe irmão de Abu-Al-Dhudut foi logo eleito membro do "divã" e feito chefe dele.
Sendo homem esperto e sagaz, conhecendo perfeitamente os desejos de todos os habitantes de Al-Patak de serem do famoso conselho, tratou de regular a entrada nele, ao jeito mais propicio aos seus interesses.
Com este, negociava isto; com aquele, barganhava aquilo.
Ia fazendo o seu negócio, quando se tratou do reconhecimento de cide Pen Ben-Forte. Tinha sido, esse ulemá, juiz durante muito tempo, de forma que conhecia o irmão do sultão, quando advogava.
O seu direito à entrada no "divã" era inconcusso, mas o príncipe queria que ele lhe desse dez mil piastras para tornar efetivo o seu direito.
Pen Ben-Forte não esteve pelos autos e lembrou a sua Alteza o fato de ter ele obtido, revelando uma sentença dele, cide, dinheiro ao mercador - sentença mais tarde reformada.
Pen Ben-Forte tinha disso documentos e prometeu publicá-los, se não entrasse no “divã".
Não é preciso contar mais; basta dizer que o antigo juiz entrou e foi reconhecido membro do conselho.
O ANEL DE PERDICAS
País estrangeiro e não podia ter exército próprio.
O seu rei não era escolhido por força da primogenitura. Alguns sujeitos avançados tinham mostrado a desvantagem de o filho suceder ao pai no trono, e resolveram que o herdeiro fosse indicado por uma assembléia de notáveis a que chamaram - a dieta.
Governava nesse tempo o reino - El-Sulida, príncipe velho, de pouca barba, curto de pernas, rico de muitas fazendas, que desejava do fundo d'alma povoadas de escravos.
Sulida tinha encaminhado bem os filhos nos cargos do reino e do império e vivia, a contento de todos, distribuindo governo mais ou menos com sabedoria.
Além do desgosto que lhe ia n'alma por não ter mais escravos negros nas suas propriedades agrícolas, um dos seus pesares íntimos era não passar ao filho o trono que ocupava.
Ninguém suspeitava dessa sua mágoa secreta, por isso todos diziam que Sulida era um príncipe perfeito, respeitador das leis e desejoso da igualdade de seus povos, porque se bem que aquilo lá fosse reino, era legal que ninguém tivesse privilégios.
Uma bela manhã, fosse devido à idade avançada do soberano, fosse devido a outro qualquer motivo, el-rei Sulida amanheceu muito doente e os médicos que foram chamados declararam que o príncipe poucos dias tinha de vida.
Os seus ministros trataram de reunir logo a dieta, para que ela escolhesse o sucessor.
Reunida a tal dieta, não chegaram os seus membros a acordo algum. Todos eram candidatos, de modo que ninguém podia escolher o sucessor de Sulida, a não ser que o sucessor fosse o próprio eleitor, isto é: o desejo de cada um era votar em si mesmo.
Resolveram então apelar para a assembléia das cidades e vilas, isto é, para uma convenção maior, composta de representantes de todos os municípios do reino.
Reuniu-se essa convenção, mas não chegaram a acordo algum, após temíveis bate-bocas. Afinal, no fito de conciliar as várias correntes da política do reino, concordaram em deixar a escolha ao alvitre do soberano moribundo. Foram a ele e falaram-lhe. Ele respondeu: - Quem deve ser o rei é Sancho.
Foi geral o espanto. Poucos conheciam esse Sancho e ninguém atinava com o motivo da escolha. Afinal vieram a saber que o obscuro Sancho estava noivo ou cousa parecida da filha de Sulida.
Está aí como um bom pai de família procede: não podendo deixar o trono ao filho, deixou-o ao futuro marido da filha.
Houve muito barulho no reino, apesar de não dizerem os cronistas se Sancho casou-se mesmo com a princesa filha de Sulida.
OS KALOGHERAS
O sucesso do polemarco Kalogheras na retumbante mobilização das tropas nacionais para a gloriosa expedição da Bahia causou pasmo a todos, inclusive o basileus Epitaphio.
Entretanto a nós um tal acontecimento não nos trouxe nenhuma surpresa, porquanto conhecíamos de há muito as virtudes guerreiras dos Kalogheras, desde o mais remoto ancestral do atual ministro que foi o fulminante Alexandre da Macedônia, cuja fama enche o mundo e aborrece os meninos estudantes de história na indagação de saber se ele foi ou não foi o maior general de todos os tempos.
Os Kalogheras são originários da Macedônia e os outros gregos, inclusive Plutarco, falam neles aqui e ali, louvando-lhes as virtudes guerreiras.
Há alguns, porém, da Beócia.
Cremos mesmo que já o velho Homero, na Ilíada, tem um verso em que se alude a altos feitos dessa família predestinada; o certo, porém, é que, nas épocas últimas, eles sempre se mostraram guerreiros de primeira ordem. Quando os turcos conquistaram e tomaram o Império Bizantino e suas restantes províncias, os Kalogheras, não tendo a quem oferecer as suas aptidões bélicas, puseram-se a serviço dos osmanlis, pelo que os sultões respectivos deram-lhes grandes honras e muitos cequins de ouro.
Corre que, entre as proezas dos Kalogheras, há a de ter ajudado a bombardear o Partenon de Atenas, feito glorioso que toda gente atribui a autoria tão-somente aos turcos, mas que, na verdade, nela tomaram parte muitos gregos.
Com a emancipação grega, os Kalogheras, não podendo suportar a admiração de um rei estrangeiro, imposto pela Inglaterra e pela França, emigraram, uns, e outros entregaram-se à guerra nacional de perturbar o comércio marítimo dos mares do Levante, sobretudo no do arquipélago.
As duas únicas grandes potências marítimas daquelas épocas, a França e a Inglaterra, fizeram uma guerra feroz e inumana a esses patriotas gregos e a maioria dos Kalogheras foi morta, sem julgamento nem outra qualquer formalidade, nos navios de guerra ingleses e franceses, quando neles caíam como prisioneiros.
Uma raça guerreira dessas, em cujo sangue há certamente muitas gotas do sangue do turco combativo, não podia deixar de revelar no nosso atual ministro da Guerra, que dela descende, uma capacidade extraordinária e uma forte alegria que mal se faz inteirar, na tática e, feroz, na estratégia de uma guerra civil.
Quem sai aos seus, não degenera.
CONSERVOU O FEZ
Não se pode deixar de admirar suficientemente o modo por que o eminente sirdar Ben-Zuff Kalogheras vai conseguindo de modo eficaz e rápido a eficiência do nosso Exército.
Em começo, ele estudou a disposição das forças nacionais, segundo cartas mineralógicas e geológicas.
S. Excia. o sirdar, em chefe, é, como se sabe, muito bom engenheiro de minas.
Em seguida, continuou nas suas inovações militares e tratou da indumentária, não só dos soldados e oficiais, como da dele.
Da primeira parte, sempre os sirdar-ministros tiveram o cuidado de tratar como dos primeiros atos dos seus ministérios, por isso que julgaram sempre que, mudando o hábito, faziam o monge; da segunda, entretanto, eles nunca julgaram cousa imprescindível, mesmo quando eram oficiais.
Ben-Zuff Kalogheras, porém, achou necessário experimentar modelos em sua própria pessoa.
Primeiramente, pôs à prova um uniforme de viajante inglês que se vê na gravura em visita às pirâmides: um chapéu de cortiça e um fichu azul. Feito isto, montou num camelo. Parece cousa imprópria; mas, a muitos, pareceu o contrário.
Não contente com isto e, também, porque lhe disseram que o tal fichu era para evitar as oftalmias, produzidas pelo revérbero da luz do sol nas areias do deserto, tratou de arranjar um outro mais adequado ao Rio de Janeiro.
Encomendou a um adelo um vestuário de cowboy ou, antes, de vaqueiro mexicano, pelo qual mandou fazer um novo de excelente brim cáqui.
Completo o indumento, pôs vestuário, perneiras, um par de grandes esporas de rosetas, um chapéu cômico cheio de guizos; e foi embarcar as tropas que partiam para uma expedição. Até aí não parou a fúria do seu amor à novidade de uniformização ministerial.
Reparando que o traje de rigor, para conferenciar com o quedivapresidente, não era bastante distinto ou original, apareceu-lhe em conferência de calças brancas, sem colete, camisa à mostra e paletó de alpaca.
O quediva formalizou-se e mastigou censuras.
Por fim, disse o soberano: - Sirdar! - Alteza! - E nesse traje que os seus amanuenses se apresentam perante Vossa Excelência, em serviço? - Não, Alteza. Por quê? - Por quê? Porque julguei lhe tivessem ensinado essa moda de vestuário, para falar aos superiores.
Ele, o sirdar, encafuou, voltou a usar sobrecasaca com fez vermelho, que ele deixava na ante-sala, quando ia ao despacho. Assim, sem merecer censuras, conservava a sua originalidade.., militar.
ARTE DE GOVERNAR
Quando o príncipe Epi subiu ao trono de rajá de Bengabul, toda a gente exultou, porque um cidadão da América, chamado Vilsão, tinha em grande conta os seus méritos de cantor de modinhas.
Ele ia fazer grandes cousas, inclusive a felicidade do povo.
Vivia este na mais atroz desgraça. Não tinha casas em que morasse e os gêneros de primeira necessidade andavam pela hora da morte. Segundo propalava, ele iria dar remédio a isso tudo e a fartura havia de reinar nos lares pobres.
Epi era pequenino e vaidoso, mais pequeninos e vaidosos do que ele, porém, os que o cercavam. Gostavam de festas e macumba e, logo que o viram no trono, trataram de arrumar muita festança.
Depois de sua ascensão, não havia dia em que, por este ou aquele motivo, não houvesse um bródio suculento.
E os seus auxiliares diziam: - Isto é que é governo! Epi sabe governar! Não contente com festas caseiras, tratou de arranjar outras com príncipes estrangeiros.
Chamou para visitar o país o príncipe das ilhas Alentianas, que imediatamente veio visitá-lo.
O príncipe era um patagão reforçado e sabia remar em canoa como ninguém. Epi fez uma despesa louca para recebê-lo e em pessoa cuidou de todos os aprestos.
Durante a sua estadia no país que foi de um mês, por delicadeza, todos se calaram; mas, mesmo assim, o rajá meteu na cadeia cinco mil pobres-diabos.
Isto tudo ele fazia para o rei ver.
Os trinta dias em que o soberano esteve no pais foram de grossa pagodeira.
Passeios, cantorias, etc. encheram o vazio da significação da visita e o povo até parecia contente.
Com esta simulação de felicidade, Epi ganhou foros de bem saber a arte de governar.
BOA MEDIDA
O faustoso sultão de Kambalu, Abbas I, que tinha por avós, em linha direta, Manuel José Fernandes, de Trás-os-Montes, reino de Portugal, e Japira, índia de nação potiguara, a qual nação habitou antigamente o império do Brasil e desapareceu, à vista da penúria do seu povo e da fome e da peste que o dizimavam, resolveu certo dia reunir em conclave as pessoas mais gradas do reino, fossem elas de que credo fossem, professassem as teorias que professassem, a fim de se aconselhar e resolver a situação. Vieram um bispo, um mago oriental, um sábio doutor em medicina, uma cartomante, um jurista, um engenheiro e um brâmane.
Abbas I assim falou, abrindo a sessão: - Meus senhores: todos sabeis o motivo da nossa reunião. É a dor e a piedade pelo meu querido povo que me movem a pedir-vos conselho para lhe dar lenitivo. Falai com franqueza que vos ouvirei com prazer. Falai! O bispo levantou-se, fez o sinal-da-cruz, orou durante alguns minutos, contando as contas do rosário e começou: - “Ad victum quae flagitat usus - Omnia jam mortalibus esse parata”. Precisamos de igrejas, conventos, recolhimentos - Majestade! O MAGO - Não concordo. A luz é tudo, de luz é feito o mundo e Deus. Precisamos mais luz elétrica.
O DOUTOR - Isto tudo é delírio; é pura paranóia, temperada com psicastenia, frenastenia. Na etiologia da peste há duas fases: primeira, a do aparecimento, dúbio, auroral, das auroras claras de maio, que é imperceptível; depois: manifestação ostensiva, horrível, de um belo horrível que só os médicos conhecem. Keats diz: "Our songs are...
O ENGENHEIRO - Que diabo é isto? Uma encampação é mais útil...
A CARTOMANTE - Vou deitar as cartas...
O JURISTA - Cuidado com a polícia! O Código Penal, no seu livro V, art. 1824, parágrafo...
O BRÂMANE - Tudo o que vem de mim, o boi, a vaca...
ABBAS I - Ora bolas! Vocês não me aconselham cousa alguma...
São uns tagarelas aborrecidos. Vou decidir por mim; vou construir um palácio magnífico. Vão-se embora, e já! Abbas I cumpriu a sua palavra. Cobriu o reino de impostos; mandou vir jaspe e ouro e mármore e pórfiro; contratou no estrangeiro hábeis arquitetos e operários e construiu o palácio, para enriquecimento de seu povo e extinção das moléstias que o dizimavam.
Acabada a construção, meteu-se nele. Daí a dias, porém, nem mais um criado tinha para servi-lo. Toda a gente do país havia morrido de fome e de moléstia; e ele veio também a morrer de fome porque não havia mais quem plantasse, quem colhesse, quem criasse, etc., etc.
HÓSPEDE ILUSTRE
Todos os dias, anunciam as folhas a chegada de um hóspede ilustre, estampando-lhe algumas vezes o retrato. O Rio de Janeiro, se não está ficando o Instituto de França ou a Royal Society de Londres, pode bem ficar sendo o Museu do Trocadero.
Não me canso de ler tais notícias e causa-me assombro que semelhantes sumidades não figurem no Larousse e em outras publicações congêneres.
Não vem isto, porém, ao caso. O que estas linhas tencionam é protestar contra a omissão que eles fizeram, do nome do ilustre marroquino Mulay Mâlek Ben-Bélek.
Ele vem superintender a construção do pavilhão de Marrocos que será erguido no estilo original daquele próspero império.
Os materiais empregados, como se sabe, são caniços e uma argamassa feita de bosta de camelo e lã de carneiro. Como aqui não havia camelos, portanto, o primeiro elemento da aludida argamassa, o imperador de Marrocos fretou um barco suíço e atestou-o daquele primordial elemento dos pártenons dos seus domínios. Vai ser uma lindeza, debaixo da féerie iluminativa que o senhor Carlos Sampaio contratou com os seus amigos americanos e vai nos custar os olhos da cara. Diz-se o mesmo que as experiências realizadas, no morro da Favela, mostraram de que forma mágica iluminações yankees transformam, em palácios de “Mil e uma Noites", cubatas africanas.
O emir Mulay Málek Ben-Bélek é especialista em agricultura. Ele já ensinou ao senhor Carlos a fazer brotar do caroço da uva, pés de algodão do mais estimável fio.
Além disto, conhece os outros gregos da mais alta antiguidade do que ele lê, não só em grego, como em árabe, tais como Arístóteles, Ptolomeu, Estrabão, etc. até dos propriamente árabes, persas e hindus.
Uma tal sabedoria está a indicá-lo para professor de “relatividade", na Escola Politécnica, ao lado das "Máquinas" do senhor Frontin.
O emir Mulay tem oitenta e três mulheres e cento e cinqüenta concubinas. Não as trouxe por dois motivos: a) por não haver grande necessidade; b) porque supôs que, aqui, não houvesse carros "especiais" em que as suas mulheres e concubinas pudessem passear pela cidade, islamicamente enclausuradas como manda o Corão.
Desconhecia que, entre nós, há os carros-fortes da polícia...
Este homem eminente, entretanto, segundo dizem, está disposto a fazer-se bufarinheiro, no Rio.
Lima Barreto
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa