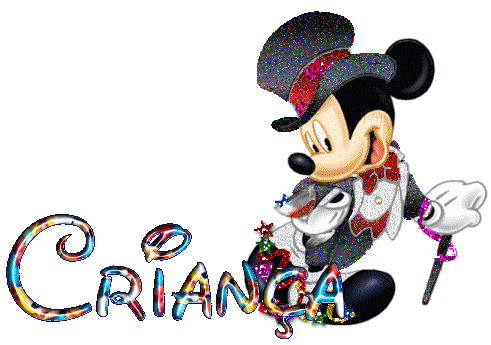Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




A GRUTA DE CRISTAL
PRÓLOGO
O PRÍNCIPE DAS TREVAS
Sou agora um velho, mas já havia passado, então, o vigor da mocidade quando Arthur foi coroado rei. Os anos que se sucederam parecem-me agora mais vagos e esmaecidos que os primeiros, como se minha vida fosse uma árvore em crescimento que com ele houvesse desabrochado em flores e folhas e agora nada mais lhe restasse que murchar e morrer.
Isto acontece com todos os velhos. O passado recente torna-se impreciso, enquanto que as cenas distantes da memória permanecem nítidas e vivamente coloridas. Até mesmo os acontecimentos da minha infância longínqua voltam-me agora mais claros e intensos, destacando-se contra a luz, como o desenho de uma árvore frutífera numa parede branca, ou bandeiras ao sol num céu de tempestade.
As cores são mais vivas do que eram, disso tenho certeza. As recordações que me ocorrem aqui na escuridão são vistas com os olhos inexperientes da infância; estão tão distantes de mim, a dor ausente, já que se desenrolam como passagens de algo que aconteceu, não comigo, não com o feixe de ossos que essas recordações habitavam, mas com um outro Merlin, jovem, ágil e livre no ar e nos ventos de primavera, como a ave que inspirou meu nome.
Com as recordações posteriores é diferente; voltam-me algumas delas, quentes e sombreadas, cenas vistas nas chamas, pois é aí que as recolho. Este é um dos truques corriqueiros — não posso chamar a isso de poder — que ainda me restam, agora que estou velho e finalmente reduzido à estatura de um homem. Posso ainda vislumbrar... não claramente ou com o toque das trombetas como outrora, mas como um sonho de criança e visões no fogo. Posso ainda fazer com que as chamas se avivem ou se apaguem; é uma das mágicas mais simples, a que se aprende mais facilmente, a última que se esquece. O que não consigo recordar em sonho, vejo nas chamas, no coração rubro do fogo, ou nos inumeráveis reflexos da gruta de cristal.
A primeira recordação é obscura e fugaz. Não é uma recordação propriamente minha, porém mais tarde vocês compreenderão como sei disso. Vocês a chamariam não de uma recordação, antes de um sonho do passado, algo no sangue, algo retirado "dele", talvez, enquanto ainda me guardava no seu corpo. Creio que essas coisas podem ocorrer. Portanto, parece-me certo que deva começar por ele, que estava diante de mim, e estará mais uma vez quando eu me for.
Isto foi o que aconteceu naquela noite. Eu vi, e é uma história verdadeira.
Estava escuro e o lugar era frio, mas ele acendera uma pequena fogueira de gravetos, que fumegava lenta, mas produzia um pouco de calor. Chovera o dia todo; dos galhos junto à entrada da caverna a água ainda escorria, e um filete insistente caía da borda do poço, encharcando a terra. Diversas vezes, inquieto, ele saíra da gruta, e agora caminhava sob o rochedo na direção do arvoredo onde prendera seu cavalo..
À aproximação do anoitecer, a chuva cessara, mas erguera-se uma névoa, que avançava pelas árvores à altura dos joelhos, fazendo-se parecerem fantasmas, e o cavalo que pastava parecia flutuar como um cisne. Este era cinzento e mais que nunca fantasmagórico, porque pastava tão quieto; ele rasgara um lenço e envolvera o freio com tiras para que o tilintar dos guizos não o traísse. O freio era dourado e as tiras eram de seda, pois ele era filho de um rei. Se o tivessem apanhado, estaria morto. Tinha apenas dezoito anos.
Ouviu o ruído dos cascos de um cavalo que subia do vale. Sua cabeça voltou-se e a respiração tornou-se-lhe ofegante. A espada reluziu ao ser desembainhada. O cavalo cinzento parou de pastar e ergueu a cabeça para fora da névoa. As narinas estremeceram, mas não emitiu nenhum som. O homem sorriu. O tropel aproximou-se e então, mergulhado até os ombros na névoa, emergiu da penumbra um pônei castanho. Seu cavaleiro, pequeno e esguio, estava envolvido numa capa escura para resguardar-se do sereno. O pônei parou, levantou a cabeça e soltou um longo relincho. O cavaleiro, com uma exclamação de desalento, escorregou da sela e puxou o freio para abafar o som contra a própria capa. Era uma moça, muito jovem, que correu os olhos ao redor, ansiosa, até ver o rapaz de espada na mão, junto às árvores.
— Você parecia uma tropa de cavalaria — disse ele.
— Cheguei aqui antes de dar por mim. Tudo parece estranho, no nevoeiro.
— Ninguém a viu? Chegou a salvo?
— Razoavelmente a salvo. Foi impossível nos últimos dois dias. Eles estavam nas estradas dia e noite.
— Foi o que imaginei. — Sorriu. — Bem, você está aqui, agora. Dê-me as rédeas.
Conduziu o pônei para baixo das árvores e amarrou-o. Então beijou-a.
Passados uns instantes, ela o afastou.
— Eu não deveria ficar. Trouxe as coisas; assim, mesmo que eu não possa vir amanhã... — Ela parou. Tinha visto a sela no cavalo dele, o freio abafado, a mochila pronta. Suas mãos moveram-se bruscamente apoiando-se no peito do rapaz, que as cobriu com as suas e as apertou. — Ah! — exclamou ela. — Eu sabia. Mesmo em sonho eu já sabia, a noite passada. Você vai partir.
— É preciso. Hoje à noite.
Ela permaneceu silenciosa por um minuto. Então tudo o que disse foi:
— Quanto tempo?
Ele não fingiu não tê-la compreendido.
— Temos uma, duas horas, não mais. Ela declarou, positiva:
— Você voltará. — E quando ele começava a falar: — Não. Não agora, não mais. Já dissemos tudo e já não há muito tempo. Só quis dizer que você estará a salvo e voltará a salvo. Estou-lhe dizendo, sei essas coisas. Tenho vidência. Você voltará.
— Quase não é preciso vidência para me dizer isso. Tenho que voltar. E então talvez você me dê ouvidos...
— Não. — Ela o interrompeu novamente, quase zangada. — Não faz mal. Que importância tem? Só dispomos de uma hora e estamos a desperdiçá-la. Vamos entrar.
Ele já estava retirando a jóia que lhe prendia a capa, ao envolvê-la com os braços e conduzi-la na direção da gruta.
— Sim, vamos entrar.
LIVRO I – A POMBA
No dia em que o meu tio Camlach voltou para casa, eu tinha apenas seis anos de idade.
Lembro-me bem dele como o vi pela primeira vez. Um rapaz alto, irritável como meu avô, olhos azuis e os belos cabelos avermelhados que eu achava tão lindos em minha mãe. Chegou a Maridunum próximo ao pôr do sol, numa tarde de setembro, com uma pequena tropa. Sendo ainda criança, encontrava-me em companhia das mulheres na sala comprida e antiga onde elas teciam. Minha mãe estava ao tear. Lembro-me da fazenda: era púrpura, orlada com um desenho verde e estreito. Eu estava sentado perto dela, no chão, jogando três-marias, a mão direita contra a esquerda. O sol penetrava de viés pelas janelas, formando poças de ouro oblongas no mosaico quebrado do piso; abelhas zumbiam nas plantas do lado de fora e até o ruído do tear parecia sonolento. As mulheres conversavam entre si por sobre os fusos, mas baixinho, as cabeças juntas, e Moravik, minha ama, estava francamente adormecida no seu banquinho, numa das poças de luz solar.
Quando o tropel e a seguir o vozerio se ergueram do pátio, o tear parou abruptamente e com ele a conversa à meia-voz das mulheres. Moravik acordou com um resfôlego, os olhos arregalados. Minha mãe sentou-se muito empertigada, a cabeça erguida, escutando. Deixara cair a lançadeira. Vi seus olhos encontrarem os de Moravik.
Estava a meio caminho da janela quando Moravik me chamou ríspida, e havia alguma coisa na sua voz que me fez parar e voltar sem protesto. Ela começou a remexer na minha roupa, endireitando a túnica e alisando meu cabelo, e isso me fez compreender que o visitante era alguém de importância. Senti-me ansioso e também surpreso de que aparentemente fosse ser apresentado a ele; estava acostumado a ser mantido fora de vista, naquele tempo. Permaneci de pé pacientemente enquanto Moravik passava o pente pelo meu cabelo; sobre minha cabeça ela e minha mãe trocaram palavras rápidas e ofegantes que, mal prestando atenção, não compreendi. Eu estava escutando o tropel dos cavalos no pátio e os gritos dos homens, e aqui e ali chegavam-me claramente palavras numa língua que não era nem gaélico nem latim, mas celta com um certo sotaque da Bretanha Menor, que eu entendia porque minha ama, Moravik, era bretã e sua língua me ocorria tão prontamente quanto a minha própria.
Ouvi a gargalhada ruidosa do meu avô e outra voz a responder. Então ele devia ter levado o recém-chegado para dentro porque as vozes se distanciaram, deixando apenas o tilintar e o pisotear dos cavalos que eram conduzidos aos estábulos.
Desvencilhei-me de Moravik e corri para minha mãe.
— Quem é?
— Meu irmão Camlach, filho do Rei. — Ela não olhou para mim, mas apontou para a lançadeira caída. Apanhei-a e entreguei-lha. Lenta e um tanto mecanicamente, ela pôs o tear outra vez em movimento.
— A guerra terminou então?
— A guerra terminou há muito tempo. Seu tio tem estado com o Suserano, no Sul.
— E agora ele precisa voltar para casa, porque o meu tio Dyved morreu? — Dyved fora o herdeiro, o filho mais velho do Rei. Morrera subitamente e em meio a grande sofrimento, de cãibras no estômago e Elen, sua viúva, que não tinha filhos, voltara para junto do pai. Naturalmente houvera a costumeira conversa sobre envenenamento, mas ninguém a levara a sério. Dyved era muito querido, um guerreiro destemido e um homem prudente e generoso quando devia. — Dizem que ele vai ter de casar-se. — Vai, mãe? — Eu estava empolgado, sentindo-me importante em saber tanto, pensando na festa de casamento. — Vai-se casar com Keridwen, agora que o tio Dyved...
— O quê? — A lançadeira parou e ela voltou-se espantada. Mas o que viu no meu rosto acalmou-a, porque a raiva desapareceu de sua voz, ainda que mantivesse o cenho franzido, e ouvi Moravik casquinar e mexer-se atrás de mim. — Onde foi descobrir isso? Você ouve demais, quer entenda ou não. Esqueça-se desses assuntos e fique calado. — A lançadeira moveu-se outra vez, lentamente. — Ouça, Merlin. Quando eles vierem vê-lo, você fará melhor se ficar calado. Compreende?
— Sim, mãe — Compreendera muito bem. Eu estava bastante habituado a me manter fora do caminho do Rei. — Mas eles virão ver-me? Por que a mim?
Ela respondeu com uma ponta de amargura que a fez parecer a repente mais velha, quase tão velha quanto Moravik:
— Por que você acha que é?
O tear bateu outra vez com força. Ela estava colocando o fio de e eu via que estava cometendo um engano, mas parecia boto de modo que não disse nada, observando-a e mantendo-me junto a ela, até que finalmente a cortina do portal foi puxada para um lado e os dois homens entraram.
Pareciam encher o aposento, a cabeça ruiva e a grisalha a trinta centímetros das vigas. Meu avô usava um traje azul orlado de ouro. Camlach estava de preto. Mais tarde, eu iria descobrir que ele sempre se vestia de preto; trazia jóias nas mãos e no ombro e junto ao pai parecia franzino e jovem, mas astucioso e vivo como uma raposa.
Minha mãe ergueu-se. Trajava um vestido caseiro castanho-escuro, cor de turfa e, em contraste, seu cabelo brilhava como barba de milho. Mas nenhum dos dois homens olhou para ela. Pensar-se-ia que não havia ninguém na sala exceto eu, pequeno como era, junto ao tear.
Meu avô sacudiu a cabeça e disse uma palavra: — "Fora", e as mulheres se apressaram num grupo farfalhante e mudo para fora do quarto. Moravik manteve-se firme, impada de coragem como uma perdiz, mas os aterradores olhos azuis faiscaram na sua direção por um segundo e ela partiu. Uma fungadela ao passar por eles foi tudo o que ousou. Os olhos voltaram-se para mim.
— O bastardo de sua irmã — disse o Rei. — Aí está. Faz seis anos este mês, alto como um coqueiro e nada parecido com nenhum de nós, como seria de esperar de um filho maldito do diabo. Olhe para ele! Cabelos pretos, olhos pretos e com tanto medo de ferro frio quanto um aleijão das montanhas ocas(*). Se você me disser que o próprio diabo gerou esse aí, eu acreditarei!
(*) Referência à mitologia galesa — criança aleijada que as fadas deixam em lugar que roubam. (N. da T.)
Meu tio só disse uma palavra, diretamente a ela:
— De quem?
— Você acha que não perguntamos, seu idiota? — exclamou meu avô. — Ela foi chicoteada até que as mulheres disseram que abortaria, mas nunca extraímos uma só palavra dela. Era melhor que tivesse falado, talvez...e quanta tolice diziam, histórias da carochinha sobre demônios que aparecem na escuridão para se deitarem com jovens donzelas...e pelo aspecto dele bem poderiam ter razão.
Camlach, um metro e oitenta, louro, baixou os olhos para mim. Eram azuis, claros como os de minha mãe, o colorido vivo. A lama de suas botas macias de couro de corça secara, tornando-se amarelada e ele cheirava a suor e a cavalos. Viera ver-me, mesmo antes de sacudir a poeira da viagem. Lembro-me de como me observou, enquanto minha mãe se mantinha silenciosa e meu avô carregava o sobrolho, a respiração dissonante e acelerada, como sempre fazia quando se deixava arrebatar.
— Venha aqui — disse meu tio.
Adiantei-me meia dúzia de passos. Não ousava chegar mais perto. Parei. A três passos de distância ele parecia mais alto que nunca. Erguia-se acima de mim até às vigas do teto.
— Qual é o seu nome?
— Myrddin Emrys.
— Emrys? Filho da luz, propriedade dos deuses...? Isto dificilmente seria o nome para um filho do demônio.
A suavidade do seu tom encorajou-me.
— Chamam-me de Merlinus — aventurei. — É o nome romano do falcão, o cornwalch.
Meu avô vociferou:
— Falcão! — e fez um som de desprezo sacudindo seus braceletes, fazendo-os tilintar.
— Um pequenininho — disse eu, defensivo. Então, calei sob o olhar pensativo do meu tio. Ele alisou o queixo, olhando para minha mãe com as sobrancelhas erguidas. — Escolhas estranhas, todas elas, para um lar cristão. Um demônio romano, talvez, Niniane?
Ela ergueu o queixo.
— Talvez. Como posso saber? Estava escuro.
Achei que um ar divertido passou fugaz pelo rosto dele, mas o Rei baixou o braço, num gesto violento.
— Você vê? É tudo o que vai obter: mentiras, contos de bruxaria, insolência! Volte para o seu trabalho, menina, e mantenha esse bastardo fora da minha vista! Agora que seu irmão está em casa, vamos arranjar um homem que tire vocês dois do meu caminho e do dele! Camlach, espero que você perceba a sensatez de arranjar uma esposa e um filho ou dois, já que é só isso que me restou!
— Oh, eu sou a favor — disse Camlach, de boa vontade. A atenção deles desviou-se de mim. Iam-se embora e nenhum dos dois me tocara. Descerrei as mãos e recuei devagarinho, meio passo, depois outro. — Mas o senhor arranjou uma nova rainha nesse meio tempo, senhor, e dizem-me que está grávida.
— Não se importe com isso. Você deverá casar, e logo. Sou homem velho, e estes são tempos tumultuados. Quanto ao to _ fiquei gelado outra vez — esqueça-o. Quem quer que o tenha gerado, se não apareceu em seis anos, não vai fazê-lo agora. E se tivesse sido o próprio Vortigern,. o Suserano, não poderia fazer nada com ele. Um pirralho intratável que se esquiva ozinho pelos cantos. Nem mesmo brinca com os outros meninos tem medo, provavelmente. Medo da própria sombra.
Afastou-se. Os olhos de Camlach encontraram os de minha mãe sobre minha cabeça. Trocaram alguma mensagem. Então ele olhou para mim novamente e sorriu.
Ainda me lembro de como a sala pareceu iluminar-se, embora o sol já tivesse desaparecido e com ele o seu calor. Logo estariam trazendo as lamparinas.
— Bem, — disse Camlach, — não passa de um falcão implume, afinal de contas. Não seja muito severo com ele, senhor. O senhor já assustou homens maiores que ele durante a vida.
— Refere-se a si próprio? Hah!
— Asseguro-lhe que sim.
O Rei, no portal, encarou-me por um instante com o cenho franzido, e então com um bufo de impaciência ajeitou o manto sobre o braço.
— Bem, deixe estar. Deus meu, como estou faminto! Já passa muito da hora da ceia. Mas suponho que vá querer-se meter de molho primeiro, nessa maldita moda romana. Previno-o de que nunca mandei acender as caldeiras desde que partiu...
Voltou-se com um rodopio do manto azul e saiu, ainda falando. Atrás de mim, ouvi minha mãe suspirar e o farfalhar do seu vestido ao sentar-se. Meu tio estendeu a mão para mim.
— Venha, Merlinus, e converse comigo enquanto me banho nessa sua água fria galesa. Nós, príncipes, precisamos conhecer-nos um ao outro.
Continuei pregado no chão. Estava consciente do silêncio de minha mãe e de quão imóvel ela se mantinha.
Venha — disse meu tio, carinhoso, e sorriu-me outra vez. Corri para ele.
Estive no hipocausto aquela noite.
Era o meu caminho particular, meu esconderijo secreto, para onde podia fugir dos meninos maiores e entregar-me às minhas brincadeiras solitárias. Meu avô acertara quando dissera que eu me "esquivava sozinho pelos cantos", mas isso não era por medo, embora os filhos dos seus fidalgos seguissem seu exemplo — como fazem as crianças — tornando-me o alvo dos seus jogos de guerra violentos, sempre que conseguiam apanhar-me.
A princípio, é verdade, os túneis do sistema de aquecimento em desuso eram um refúgio, um lugar secreto onde podia esconder-me e ficar sozinho; mas logo descobrira um prazer curiosamente intenso em explorar o grande sistema de câmaras escuras, cheirando a terra, sob o assoalho do palácio.
O palácio do meu avô fora em tempos passados uma grande casa de campo, propriedade de algum notável romano que possuíra e levara a terra por diversas milhas ao longo do vale do rio. A parte principal da casa permanecia de pé, embora muito marcada pelo tempo e pela guerra, e por, no mínimo, um incêndio desastroso que destruíra uma extremidade do bloco principal e parte de uma ala. O antigo alojamento dos escravos ainda se conservava intacto ao redor do pátio, onde os cozinheiros e os criados da casa trabalhavam, e a casa de banho ainda existia, apesar de remendada e rebocada, e com o telhado colmado nas partes mais estragadas. Nunca me lembro de ter visto a caldeira funcionar; a água era aquecida nos fogos do pátio.
A entrada para o meu labirinto secreto era a abertura da fornalha: um alçapão na parede sob a caldeira rachada e enferrujada, que mal chegava aos joelhos de um homem adulto, e oculto por gravetos e urtigas e um grande pedaço de metal curvo desprendido da própria caldeira. Uma vez no interior, podia-se penetrar sob os quartos da casa de banho, mas esta estivera fora de uso por tanto tempo que o espaço sob o piso estava entulhado e malcheiroso demais até para mim. Segui para o outro lado sob o bloco principal do palácio. Ali o velho sistema de ar quente fora tão bem construído e conservado que, mesmo agora, o espaço da altura dos joelhos sob o assoalho era seco e arejado e o reboco ainda aderia às pilastras de tijolos que sustentavam o piso superior. Em alguns lugares, naturalmente, uma pilastra ruíra ou havia destroços caídos, mas os alçapões que levavam de uma câmara para outra estavam solidamente arqueados e seguros e eu podia engatinhar livremente, sem ser visto ou ouvido, até à própria câmara do Rei.
Se algum dia me tivessem descoberto, creio que receberia um castigo muito pior que uma surra: devo ter ouvido, bastante inocentemente, dezenas de conselhos secretos e com certeza ocorrências muito privadas, mas esta faceta nunca me ocorreu. E era bastante natural que não se pensasse nos perigos de alguém estar à escuta; antigamente as tubulações eram limpas por escravos-meninos e ninguém muito acima de dez anos poderia jamais ter passado por algumas das partes da construção; havia um ou dois lugares onde a esmo eu tinha dificuldade em me esgueirar. Só uma vez estive em perigo de ser descoberto: uma tarde em que Moravik supôs e que eu estivesse brincando com os garotos e eles por sua vez pensaram que eu estivesse a salvo em companhia dela. O ruivo Dinias, meu principal atormentador, deu tal empurrão num menino mais novo da viga central do telhado onde brincavam, que este caiu e partiu uma perna, fazendo um alarido tal que Moravik, acorrendo à cena, notou minha ausência e pôs o palácio em polvorosa. Ouvi o barulho e emergi sem fôlego e sujo, de sob a caldeira, na hora em que ela começava uma busca pela ala da casa de banho. Preguei uma mentira e escapei com uns sopapos e uma reprimenda, mas aquilo foi um aviso; nunca mais fui ao hipocausto durante o dia, somente à noite antes que Moravik fosse deitar-se, ou uma ou duas vezes quando eu estava sem sono e ela já estava na cama a ressonar. A maior parte do palácio estaria também já deitada, então, mas quando havia festa, ou quando meu avô recebia convidados, eu escutava o barulho das vozes e os cantos; e às vezes arrastava-me até à câmara de minha mãe para ouvir o som de sua voz quando conversava com as mulheres. Uma noite ouvi-a rezar, alto, como fazemos às vezes a sós, e na oração aparecia o meu nome "Emrys" e a seguir suas lágrimas. Depois disso, mudei de rumo, passando pelos aposentos da Rainha, onde quase todas as noites Olwen, a jovem Rainha, cantava com suas damas acompanhando-se na harpa, até que os passos pesados do Rei fossem ouvidos no corredor; aí a música parava.
Mas não era por nenhuma dessas coisas que eu ia lá. O que me importava — vejo claramente agora — era estar sozinho na escuridão secreta, onde um homem é senhor de si mesmo, e de tudo, exceto da morte.
A maioria das vezes eu me dirigia ao que denominava minha “gruta”. Esta fizera parte de alguma chaminé principal e seu topo ruíra, deixando entrever o céu. Exercia uma certa magia sobre mim desde o dia em que eu olhara para cima ao meio-dia e vira, pálida mas inconfundível, uma estrela. Agora, quando entrava lá, a noite, enroscava-me na cama de palha roubada aos estábulos e contemplava as estrelas a deslocarem-se lentamente pelo firmamento, e fazia minha aposta com o céu: se a lua aparecesse sobre a chaminé enquanto eu estava ali, o dia seguinte me traria a realização do meu maior desejo.
A lua estava lá aquela noite. Cheia e brilhante, aparecia nítida bem no centro da chaminé, a claridade a cair sobre o meu rosto voltado para cima; tão branca e pura que parecia que eu a sorvia como água. Não me movi até que desaparecesse, assim como a pequena estrela que a acompanha.
No caminho de volta, passei sob um aposento que estivera vazio anteriormente e que agora continha vozes.
O quarto de Camlach, com certeza. Ele e outro homem cujo nome eu desconhecia, mas que pelo sotaque era um dos que chegaram naquele dia; e eu descobrira que tinham vindo de Cornwall. Possuía uma dessas vozes grossas e retumbantes das quais eu só apanhava uma palavra aqui, outra ali, enquanto engatinhava, rápido, insinuando-me entre as pilastras, preocupado apenas em não ser ouvido.
Estava mesmo na parede do fundo, apalpando-a à procura da brecha em arco que dava para a câmara seguinte, quando meu ombro bateu numa seção quebrada de chaminé e um pedaço de barro solto caiu com um ruído.
A voz que falava córnico parou abruptamente:
— O que é isso?
Então a voz do meu tio veio tão clara pela chaminé partida que se poderia pensar que falava ao meu ouvido:
— Nada. Um rato. Veio de baixo do assoalho. Pode crer que este lugar está caindo aos pedaços.
Ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada e passos que atravessavam o quarto afastando-se de mim. A voz distanciou-se. Pensei ouvir o tinido e o borbulhar de uma bebida ao ser servida. Comecei a avançar muito devagarinho ao longo da parede em direção ao alçapão.
Ele voltava.
—... E mesmo se ela o recusar, não fará diferença alguma. Ela não vai ficar aqui. Seja como for, não por mais tempo do que meu pai consiga afastar o bispo e mantê-la junto a si. Pode estar certo de que, tendo ela o pensamento fixo como tem naquilo que denomina uma corte mais alta, nada tenho a temer, mesmo se ele próprio aparecesse.
— Conquanto você acredite nela.
— Oh, acredito nela! Estive indagando aqui e ali e todos dizem o mesmo. — Riu. — Quem sabe, talvez ainda venhamos a agradecer o fato de termos uma voz nessa corte celestial antes que nosso jogo chegue ao fim. E ela é bastante devota para nos salvar a todos, dizem, se ao menos se dispuser a fazê-lo.
— Talvez você ainda venha a precisar — disse o homem de Cornwall.
— Talvez.
— E o menino?
— O menino? — repetiu meu tio. Fez uma pausa, e em seguida os passos leves retomaram seu passeio. Esforcei-me por ouvir. Precisava ouvir. Por que teria importância, eu mal sabia. Não me preocupava muito em ser chamado de bastardo ou covarde, ou de cria do diabo. Mas naquela noite aparecera aquela lua cheia.
Ele fizera meia-volta. Sua voz me chegava clara, descuidada, mesmo indulgente.
— Ah, sim, o menino. Uma criança inteligente, pode-se ver, com mais capacidade do que lhe atribuem... é bastante simpático, se lhe falam como devem. Vou mantê-lo junto a mim. Lembre-se disso, Alun. Gosto do menino...
Chamou então um criado para reabastecer a jarra de vinho e, aproveitando a cobertura, arrastei-me para fora.
Aquilo foi o começo. Durante dias segui-o por toda parte e ele tolerava e até me encorajava, e nunca me ocorreu que um homem de vinte e um anos nem sempre apreciaria ter um filhote de seis a trotar a seu lado. Moravik ralhava-me quando conseguia apanhar-me mas minha mãe parecia satisfeita e aliviada, e disse a ela que me deixasse em paz.
Fora um verão quente e havia paz aquele ano; assim, nos primeiros dias do seu regresso, Camlach ficou descansando ou passeando a cavalo com o pai ou com seus homens, pelas plantações e pelos vales onde as maçãs caíam maduras das árvores.
O Sul do País de Gales é uma terra linda, com montanhas verdejantes e vales profundos, baixadas douradas de flores onde o gado prospera, florestas de carvalho coalhadas de veados, e terras altas azuladas onde o cuco canta na primavera, mas onde, chegado o inverno, correm os lobos, em meio à neve.
Maridunum encontra-se no ponto onde o estuário se abre para o mar, às margens do rio denominado Tobius nos mapas militares mas que os galeses chamam de Tywy. Ali o vale é plano e extenso, e o Tywy corre em meandros profundos e tranqüilos por brejos e baixadas entre suaves colinas. A cidade ergue-se no terreno elevado da margem norte, onde a terra é drenada e seca; é ligada ao interior pela estrada militar de Caerleon e ao sul por uma boa ponte de pedra de três vãos da qual sai uma rua pavimentada que sobe à praça, passando pelo palácio do Rei. Além da casa do meu avô e da caserna da fortaleza romana onde alojava seus soldados, e que mantinha em bom estado, o melhor prédio de Maridunum era o convento cristão próximo ao palácio, sobre a margem do rio. Algumas mulheres santas ali viviam, denominando-o Comunidade de São Pedro, embora a maioria da gente da cidade conhecesse o local como Tyr Myrddin, nome derivado do velho santuário do deus que existia desde tempos imemoráveis, sob um carvalho, não longe do portão de São Pedro. Mesmo quando eu era criança ouvi a própria cidade ser chamada de Caer-Myrddin. Não é verdade (como dizem agora) que lhe tenham dado esse nome em minha homenagem. O fato é que tanto eu quanto a cidade, a colina além e a fonte sagrada recebemos o nome do deus que é cultuado nos lugares altos. A partir dos acontecimentos que irei descrever, o nome da cidade foi publicamente mudado em minha honra, mas o deus já lá estava, e se agora tenho a sua colina é porque a compartilho com ele.
A casa do meu avô erguia-se em meio a um pomar ao lado do rio. Subindo-se por uma macieira curvada ao topo da muralha, podia-se sentar acima do caminho de reboque e observar a ponte fluvial, ver as pessoas que chegavam do sul ou os navios que subiam com a maré.
Ainda que não me fosse permitido subir nas árvores para colher maças — devendo contentar-me com as frutas derrubadas pelo vento — Moravik nunca me impediu de subir ao alto da muralha. Quando mandava que me postasse ali de sentinela, significava que ouvira falar de visitas antes de qualquer outra pessoa do lugar. Havia um pequeno terraço elevado ao fim do pomar com um muro arredondado ao fundo, e um banco de pedra abrigado do vento — onde ela se sentava cochilando sobre o fuso, enquanto o sol batia no canto com tanta intensidade, que os lagartos fugiam para debaixo das pedras, e eu gritava-lhe as notícias do alto da muralha.
Numa tarde quente, cerca de oito dias após a chegada de Camlach a Maridunum, estava eu no meu posto, como de costume. Não havia movimento na ponte ou na estrada do vale, apenas uma barcaça local de cereais carregando no cais, observada por um punhado de desocupados, e um velho com um capuz que por ali se achava apanhando as frutas caídas junto à muralha.
Olhei de esguelha para o canto de Moravik. Estava adormecida, o fuso caído ao colo, mais parecendo um junco aberto com sua lã felpuda. Atirei fora a fruta mordida, que estivera comendo e inclinei a cabeça para estudar os galhos proibidos do topo da árvore, onde bolas amarelas pendiam em cachos contra o céu. Havia uma que eu pensava poder alcançar. O fruto era redondo e lustroso, amadurecendo quase visivelmente ao calor do sol. Fiquei com a boca cheia de água. Procurei um apoio para o pé e comecei a subir.
Estava a dois galhos de distância da fruta quando um grito vindo da ponte, seguido de um tropel rápido e um tilintar de metais me fez parar. Agarrando-me como um macaco, certifiquei-me da posição dos pés, então estendi o braço para afastar as folhas, espreitando na direção da ponte. Um grupo de homens a cavalo lha sobre a ponte, na direção da cidade. Um deles, montado mm grande cavalo castanho, vinha sozinho à frente, a cabeça descoberta.
Não era Camlach, nem meu avô; e nenhum dos fidalgos, pois aqueles homens usavam cores que eu desconhecia. Então, ao alcançarem a extremidade mais próxima da ponte, vi que o que vinhaà frente era um estranho de cabelos e barba pretos, parecendo pelas roupas estrangeiro, e algo de ouro cintilava-lhe no peito. As guarnições de seus punhos, de um palmo de comprimento, também eram de ouro. Sua tropa, segundo calculei, teria uns cinquenta homens.
O rei Gorlan de Lanascol. De onde me veio o nome claro, isento de dúvida, não tenho ideia. Algo ouvido no meu labirinto, talvez? Uma palavra descuidada ao alcance dos ouvidos de uma criança, um sonho talvez? Os escudos e as pontas das lanças, refle-tidos ao sol, cegaram-me os olhos. Gorlan de Lanascol. Um rei. Vindo para casar com minha mãe e levar-me com ele para além-raar. Ela seria rainha. E eu...
Ele já conduzia o cavalo para a colina. Comecei a escorregai e debater-me pela árvore abaixo.
E se ela o recusar? Reconhecia aquela voz; era a do homem de Cornwall. E a seguir a do meu tio: Mesmo que ela o faça, não fará muita diferença... Nada tenho a temer, mesmo se ele próprio viesse...
A tropa atravessava calmamente a ponte. O tilintar das armas e o martelar dos cascos ecoavam na quietude da tarde.
Ele viera pessoalmente. Estava ali.
A uns trinta centímetros do cimo da muralha perdi pé e quase caí. Felizmente consegui agarrar-me e escorreguei a salvo para o topo, numa chuva de folhas e musgo no momento em que a voz de minha ama gritava aguda:
— Merlin? Merlin? Deus nos salve, onde está o menino?
— Aqui, aqui, Moravik, estou descendo.
Aterrissei na grama alta. Ela largara o fuso e, arrepanhando as saias, veio a correr.
— O que é que está acontecendo na estrada do rio? Ouvi cavalos, uma tropa inteira, pelo barulho... Por todos os santos, criança, olhe sua roupa! E consertei sua túnica ainda esta semana e olhe agora para ela! Um rasgão em que se poderia enfiar uni braço e sujeira da cabeça aos pés como um filho de mendigo!
Desviei-me quando ela avançou para mim.
— Caí. Sinto muito. Estava descendo para lhe vir contar. K uma tropa montada. Estrangeiros! Moravik, é o rei Gorlan de Lanascol! Ele tem uma capa vermelha e a barba preta!
— Gorlan de Lanascol? Ora, não são nem vinte milhas do lugar onde nasci! Para que estaria ele aqui, pergunto eu?
Arregalei os olhos.
— Você não sabe? Veio para casar com minha mãe.
— Tolices!
— É verdade!
— Claro que não é verdade! Você acha que eu não saberia? Você não deve dizer essas coisas, Merlin, poderia criar problemas. Onde foi que ouviu isso?
— Não me lembro. Alguém me disse. Minha mãe, acho eu. _ Não é verdade e você sabe disso.
— Então devo ter ouvido alguma coisa.
— Ouvido alguma coisa, ouvido alguma coisa. Coelhinhos têm relhas compridas, dizem. As suas devem estar sempre no chão, você ouve tanto! De que é que está rindo? _ De nada. Ela pôs as mãos nos quadris.
— Você tem estado a escutar o que não devia. Já lhe disse isso antes. Não admira que as pessoas digam o que dizem.
Geralmente eu desistia e saía devagarinho do terreno perigoso quando deixava escapar demais, mas a excitação me tornara imprudente.
— É verdade, você vai ver como é verdade! Faz diferença onde foi que ouvi? De fato, não consigo lembrar-me agora, mas sei que é verdade! Moravik...
— Que é?
— O rei Gorlan é meu pai, o meu pai de verdade.
— O quê? Desta vez a exclamação saiu afiada como o dente de uma serra.
— Você não sabia? Nem você?
— Não, não sabia. Nem você tampouco. E se você pensar em dizer isso a alguém... E como é que sabe o nome? — Ela agarrou-me pelos ombros e me deu uma sacudidela. — Como é que você sabe que esse é o rei Gorlan? Nada se disse sobre a sua vinda, nem para mim.
— Já lhe disse. Não me lembro o que ouvi nem onde. Ouvi o nome dele em algum lugar, é só isso, e sei que ele vem visitar o Rei por causa de minha mãe. Vamos para a Bretanha Menor, Moravik, e você pode vir conosco. Você gostará, não? Talvez fiquemos perto
Seu aperto intensificou-se e eu parei. Com alívio vi um dos criados do Rei vir correndo em nossa direção, sob as macieiras. Chegou arquejando.
— É para ele comparecer perante o Rei. O menino. Na gran-de sala. E depressa!
— Quem é? — perguntou Moravik.
— O Rei disse para se apressar. Procurei o menino por toda parte...
— Quem é?
— O rei Gorlan da Bretanha.
Ela deixou escapar um assovio como o de um gan-o assi^tado e baixou os braços.
— O que é que ele quer com o menino?
— Como vou saber? — O homem estava sem iôlego, fazia calor e ele era corpulento. Foi ríspido com Moravik, cuja condição como minha ama era apenas um pouquinho superior à dos criados, que a minha própria. — Só o que sei é que mandaram chamar Ladv Niniane e o menino, e no meu entender haverá pancadaria para alguém, se ele não estiver lá na hora em que o Rei o procurar. Ele está muito agitado desde que os forasteiros chegaram, isso eu lhe posso garantir.
— Está bem, está bem. Volte e diga que estaremos lá em poucos minutos.
O homem saiu a correr. Ela voltou-se para mim e segurou-me pelo braço.
— Queridos santos do céu! — Moravik possuía a maior coleção de amuletos e talismãs de Maridunum, e eu nunca a vira passar por um santuário na estrada sem prestar a sua homenagem a qualquer que fosse a imagem que o habitasse, mas oficialmente era cristã e, quando em dificuldades, uma cristã das mais devotas. — Doce querubim! E a criança teve que escolher esta tarde para vestir esses andrajos! Ande depressa agora, senão haverá confusão para nós dois. — Empurrou-me pelo caminho que conduzia à casa, ocupando-se em apelar para os seus santos e a apressar-me, recusando-se sequer a comentar o fato de que eu estava certo quanto ao recém-chegado. — Querido, querido São Pedro, por que fui comer aquelas enguias no almoço e dormir um sono tão pesado? Logo hoje! Vamos... — ela me empurrou à sua frente para o quarto. — Tire esses farrapos e vista sua túnica boa e logo saberemos para que o Lorde mandou chamá-lo. Depressa, criança!
O quarto que eu compartilhava com Moravik era pequeno, escuro e próximo aos aposentos dos criados. Cheirava sempre a comida em preparação na cozinha, mas eu gostava, assim como gostava da velha pereira coberta de liquens que pendia junto à minha janela, onde os passarinhos se balançavam a cantar nas manhãs de verão. Minha cama ficava sob a janela. A cama não passava de tábuas simples colocadas sobre blocos de madeira, sem entalhes, e não tinha cabeceira ou pés. Eu ouvira Moravik para os outros criados, quando pensava que eu não estivesse ouvindo, que aquilo dificilmente seria um lugar próprio para alojar o neto de um rei, mas para mim ela apenas dizia que lhe era conveniente estar perto dos outros criados; e realmente era h tante confortável, pois ela providenciara para que eu tivesse olchão de palha limpa e uma colcha de lã tão boa quanto as da cama de minha mãe no grande quarto pegado ao do meu a avô. A própria Moravik tinha um colchão no chão, próximo à porta que era às vezes compartilhado por um grande cão-lobo, que e remexia e coçava as pulgas aos seus pés e, às vezes, por Cerdic, um dos valetes, saxão aprisionado numa sortida há muito tempo que se acomodara casando-se com uma das moças locais. Ela morrera ao dar à luz um ano mais tarde, e a criança com ela, mas ele continuava, aparentemente, bastante satisfeito. Certa vez, perguntei a Moravik por que permitia que o cão dormisse no quarto, quando ela reclamava tanto do cheiro e das pulgas; não me lembro o que respondeu, mas sabia sem precisar que me dissessem que ele estava ali para dar aviso se alguém entrasse no quarto durante a noite. Cerdic, naturalmente, era exceção; o cão o aceitava sem maior acolhida que o bater de sua cauda no chão e cedia-lhe seu lugar na cama. De certa maneira, suponho eu, Cerdic preenchia a mesma função que o cão de guarda, além de outras. Moravik nunca o mencionava, e nem eu tampouco. Supõe-se que uma criança pequena tenha sono muito pesado, mas mesmo então, novo como eu era, acordava às vezes no meio da noite, e ficava muito quieto, observando as estrelas pela janela, engastadas como peixes de prata cintilantes na rede dos galhos da pereira. O que se passava entre Cerdic e Moravik nada mais significava para mim, além do fato de que ele ajudava a guardar minhas noites, como ela o fazia durante o dia.
Minhas roupas eram guardadas numa arca de madeira colocada junto à parede. Era muito velha e formada por painéis pintados com cenas de deuses e deusas, e acho que originalmente viera de Roma. Agora a pintura estava suja, desbotada e descascada, mas sobre a tampa ainda se podia ver, como sombras, uma cena num lugar que parecia uma gruta; havia um touro e um homem com uma faca e alguém segurando um feixe de milho e, a um canto, outra figura quase apagada com raios em volta da cabeça como o sol e um cajado na mão. A arca era revestida de cedro, Moravik lavava ela própria minhas roupas, guardando-as com ervas perfumadas do jardim
Ela levantou com tanta força a tampa que esta bateu contra a parede, e retirou a melhor das minhas duas túnicas, a verde orlada de púrpura. Gritou pedindo água, e uma das criadas veio correndo, e foi repreendida por derramá-la no chão.
O criado gordo chegou arquejante outra vez para nos dizer que devíamos-nos apressar, e foi repreendido pelo seu zelo, mas em poucos instantes fui outra vez empurrado pela colunata e pelo grande portal em arco até à parte principal da casa.
O salão onde o Rei recebia visitas era comprido e alto, e o chão de pedra preta e branca emoldurava um mosaico de um deus com um leopardo. Estava muito marcado e partido pelo arrastar da mobília pesada e o constante vaivém das botas. Um lado do salão abria para a colunata e no inverno era ali acesa uma fogueira no chão nu, dentro de uma cerca solta de pedras. O chão e as pilastras próximas estavam enegrecidos de fumaça. Na extremidade mais distante da sala erguia-se uma plataforma con a grande cadeira do meu avô e, ao lado, uma menor para a Rainha.
Ele estava sentado lá agora com Camlach de pé à sua direita e a esposa, Olwen, sentada à esquerda. Era sua terceira esposa e mais jovem que minha mãe, uma moça de cabelos escuros, calada e um tanto estúpida, a pele como leite novo, as tranças a caírem-lhe pelos joelhos, que sabia cantar como um pássaro e fazer lindos trabalhos de agulha, mas pouco mais que isso. Minha mãe, creio eu, a apreciava tanto quanto a desprezava. De qualquer forma, contra todas as expectativas, davam-se toleravelmente bem, e eu ouvira Moravik dizer que a vida para minha mãe tornara-se bem mais fácil desde que a segunda mulher do Rei, Gwynneth, falecera há um ano atrás, e, em menos de um mês, Olwen tomara seu lugar na cama do Rei. Ainda que Olwen me desse uns tapas e caçoasse de mim como Gwynneth fazia, eu teria gostado dela por sua música; mas era sempre gentil no seu modo distante e plácido, e quando o Rei estava fora do caminho ensinava-me algumas notas e deixara-me mesmo usar sua harpa até que eu aprendesse a tocar alguma coisa. Eu tinha sensibilidade, dissera ela, mas ambos sabíamos o que o Rei diria de tal loucura, de modo que sua bondade era segredo até para minha mãe.
Ele não reparou em mim agora. Ninguém reparou, exceto meu primo Dinias, que estava postado junto à cadeira de Olwen na plataforma. Dinias era filho bastardo de meu avô com uma escrava. Era um menino grande, de sete anos, com os cabelos do pai e o mesmo génio explosivo, forte para sua idade e bastante valente, e sempre gozara da preferência do Rei desde o dia em que, com cinco anos, cavalgara escondido um dos cavalos do pai, um potro castanho selvagem que desembestara com ele pela cidade e que só se livrara do menino quando este conseguiu dominá-lo passando por um barranco que lhe chegava à altura do peito. O pai surrará-o pessoalmente e depois presenteara-o com uma adaga de punho dourado. Dinias reivindicara o título de príncipe — pelo menos entre o resto da criançada — desde então, e tratava-me a mim seu companheiro de bastardia, com o máximo desprezo. Encarava-me agora tão impassível quanto uma pedra, mas sua mão esquerda — a mais distante do pai — fez um gesto grosseiro, e então deu um corte para baixo, silencioso e expressivo.
Eu parara no portal, e por trás de mim minha ama ajeitou-me a túnica e deu-me um empurrão entre as espáduas.
— Vá agora. Endireite-se. Ele não vai comê-lo.
E como a desmentir isso ouvi o tilintar dos amuletos e o começo de uma prece murmurada.
A sala estava repleta. Muitos eu conhecia mas havia ali estranhos que deviam fazer parte da comitiva que eu vira chegar. O líder sentava-se próximo à direita do Rei, cercado por seus homens. Era o homem corpulento e escuro que eu vira na ponte, barbudo, com um nariz agressivo e adunco e pernas grossas envoltas numa capa de púrpura. Do outro lado do Rei, mas de pé, abaixo do estrado, minha mãe com duas das suas damas. Eu adorava vê-la como agora, vestida como uma princesa, a túnica longa de lã cremosa caindo até o chão como uma escultura de madeira verde. O cabelo solto cascateava-lhe pelos embros como chuva. Trazia um manto azul com um broche de cobre. Seu rosto estava pálido e completamente imóvel.
Eu, preocupado com os próprios receios — o gesto de Dinias, o rosto desviado e os olhos baixos de minha mãe, o silêncio dos presentes, e o centro vazio da sala por onde devia passar, — nem olhara para o meu avô. Dera um passo à frente ainda sem ser notado, quando subitamente, com um estrondo de um cavalo que escoiceasse, ele bateu com as palmas das mãos contra os braços da cadeira e pôs-se de pé tão violentamente que fez a pesada peça recuar e os pés arranharem as pranchas de carvalho da plataforma.
— Pela luz! — Seu rosto estava malhado de vermelho e as som-brancelhas ruivas franzidas em nós de carne acima dos olhos azuis miúdos e furiosos. Encarou minha mãe e tomou tal fôlego para falar que podia ser distintamente ouvido na porta onde eu parara, receoso. Então, o homem barbudo, que se erguera ao mesmo tempo, disse alguma coisa com um sotaque que não percebi, e Camlach segurou-lhe o braço com um cochicho. O Rei parou, e exclamou numa voz pastosa: — Como quiser. Mais tarde. Leve-os daqui. — Então, claramente para minha mãe: — Isto ainda não é o fim, Niniane, prometo-lhe. Seis anos. É demais, por Deus! Venha, senhor.
Recolheu a capa com um braço, acenou com a cabeça para o filho ao descer do estrado e, tomando o braço do homem barbudo,encaminhou-se para a porta. Atrás dele, humilde como um cor-deirinho, seguia a esposa, Ohven, com a^ damas e por último Dinias, que sorria. Minha mãe não se moveu. O Rei passou por ela sem olhar ou dizer palavra, e os presentes se dividiram entre ele e a porta como um restolhal sob a relha do arado.
Aquilo me deixou postado sozinho, pregado ao chão, os olhos arregalados, a três passos da porta. Quando o Rei avançou para mim, despertei e voltei-me para escapulir para a sala de espem, mas não fui suficientemente rápido.
Ele parou abruptamente, largando o braço de Gorlan e virou-se para mim. A capa azul rodopiou e uma ponta do tecido atingiu-me o olho, fazendo-o lacrimejar. Pisquei para ele. Gorlan parara ao seu lado. Ele era mais novo que meu tio Dyved. Estava com raiva também, mas ocultava-a, e a raiva não era dirigida a mim. Parecia surpreso quando o Rei parou, e perguntou:
— Quem é esse?
— O filho dela, a que Sua Alteza iria dar um nome — respondeu meu avô, e o ouro do seu bracelete faiscou ao levantar a grande mão e derrubar-me ao chão, com a facilidade com que um menino achataria uma mosca. Então o manto azul passou por mim, e as botas do Rei, e logo a seguir as de Gorlan, sem parar. Olwen disse alguma coisa na sua voz meiga e curvou-se para mim, mas o Rei chamou-a zangado, e a mão dela recuou e ela apressou-se a segui-lo com os outros.
Levantei-me do chão e procurei Moravik com o olhar, mas ela não estava lá. Encaminhara-se diretamente para minha mãe e nem mesmo me vira. Comecei a abrir caminho pelo rebuliço do salão, mas antes que pudesse alcançar minha mãe, as mulheres, num grupo compacto e silencioso ao seu redor, saíram pela outra porta. Ninguém olhou para trás.
Alguém falou comigo, mas não respondi. Corri pela colunata, atravessei o pátio principal e saí novamente para a luz e o silencio do pomar.
Meu tio encontrou-me no terraço de Moravik.
Eu estava deitado de bruços sobre as lajotas quentes, observando um lagarto. De todo aquele dia essa é minha lembrança mais forte; o lagarto, esticado na pedra quente a poucos centímetros do meu rosto, o corpo imóvel como o bronze esverdeado, exceto pela garganta que pulsava. Tinha olhos pequenos e escuros, não mais brilhantes que a ardósia e o interior da boca era da cor de melão. A língua, comprida e pontuda, projetava-se para fora, rápida como um chicote, e seus pés produziram um ruído miúdo e farfalhante nas pedras ao passar sobre meu dedo e desaparecer numa brecha das lajotas.
Virei a cabeça. Meu tio Camlach vinha pelo pomar.
Subiu os três degraus rasos que levavam ao terraço, os passos macios nas elegantes sandálias de tirantes, e ficou parado a observar-me. Afastei o olhar. Do musgo, entre as pedras, saíam flori-nhas minúsculas, não maiores que os olhos do lagarto, e perfeitas como um cálice esculpido. Até hoje me lembro do seu desenho tão bem como se eu próprio as tivesse esculpido.
— Deixe-me ver — disse ele.
Não me movi. Ele atravessou o terraço para o banco de pedras e sentou-se de frente para mim, os joelhos afastados, as mãos pendendo entrelaçadas.
— Olhe para mim, Merlin.
Obedeci. Ele estudou-me em silêncio por algum tempo.
— Estou sempre ouvindo dizer que você não gosta de brincadeiras violentas, que foge de Dinias, que nunca se tornará um soldado, nem mesmo um homem. No entanto, quando o Rei o derruba com um tapa que teria mandado um dos seus veadeiros a ganir para o canil, você não solta um ai nem derrama uma lágrima.
Não respondi.
— Acho que talvez você não seja exatamente o que dizem, Merlin.
Ainda nada.
— Sabe por que Gorlan veio hoje? Achei melhor mentir.
— Não.
— Veio pedir a mão de sua mãe. Se ela tivesse consentido, você teria ido com ele para a Bretanha.
Encostei o dedo numa das florinhas. Desmanchou-se como uma esponjinha e desapareceu. Experimentalmente, toquei noutra. Camlach disse, então, com mais rispidez do que a que geralmente usava comigo.
— Você está-me ouvindo?
— Estou. Mas, se ela o recusou, isso não fará diferença. — Ergui os olhos. — Fará?
— Você quer dizer que não quer ir? Eu teria pensado... — Franziu as sobrancelhas claras, tão parecidas com as do meu avô. — Você seria tratado com todas as honrarias, seria um príncipe.
— Sou um príncipe agora. Tão príncipe quanto jamais poderei ser.
— O que quer dizer com isso?
— Se ela o recusou, — disse eu, — ele não deve ser meu pai. Pensei que era. Pensei que fosse por isso que ele tinha vindo.
— O que o fez pensar isso?
— Não sei. Parecia... — Parei. Não podia explicar a Camlach o clarão de luz em que o nome de Gorlan me ocorrera. — Apenas pensei que deveria ser.
— Só porque você tem estado à espera dele todo esse tempo.
— Sua voz era calma. — Essa espera é insensata, Merlin. Já é tempo de enfrentar a verdade. Seu pai está morto.
Deixei cair a mão sobre o tufo de musgo, esmagando-o. Vi a carne dos meus dedos empalidecer com a pressão.
— Ela lhe disse isso?
— Não. — Ele ergueu os ombros. — Mas, se ainda estivesse vivo, teria aparecido há muito tempo. Você deve saber disso.
Fiquei calado.
— E se não estiver morto — continuou meu tio, observando-me — e ainda assim nunca apareceu, certamente não poderá constituir motivo de dor para ninguém.
— Não, exceto que, por mais indigno que fosse, poderia ter poupado alguma coisa à minha mãe. E a mini.
Ao mover minha mão, o musgo aprumou-se outra vez como se crescesse. Mas as florinhas tinham desaparecido. Meu tio concordou.
— Ela teria sido mais inteligente, talvez, em ter aceito Gorlan ou outro príncipe.
— O que acontecerá conosco? — perguntei.
— Sua mãe deseja entrar para o Convento de São Pedro. E você... você é perspicaz e inteligente e me disseram que sabe ler um pouco. Poderia ser padre.
— Não!
Suas sobrancelhas cerraram outra vez sobre a ponte estreita do nariz.
— É uma vida bastante boa. Você não tem fibra de guerreiro, isto é certo. Por que não abraçar uma vida que lhe assente e onde estará seguro?
— Não preciso ser guerreiro para querer permanecer livre! Ficar trancado num lugar como São Pedro — não é a maneira...— Parei. Falava com veemência, mas senti faltarem-me as palavras. Não conseguia explicar uma coisa que eu próprio ignorava. Ergui os olhos, ansioso. — Ficarei com o senhor. Se não me puder usar, eu... eu fugirei para servir um outro príncipe. Mas preferia ficar com o senhor.
— Bem, ainda é cedo para falar dessas coisas. Você é muito nova — Levantou-se. — Seu rosto está doendo?
— Não.
— Deveria mandar examiná-lo. Venha comigo agora.
Estendeu a mão e eu o acompanhei. Conduziu-me pelo pomar e então atravessou o arco que abria para o jardim particular do meu avô.
Resisti, puxando sua mão para trás.
— Não tenho permissão para entrar aí.
— Comigo, certamente. Seu avô está com os hóspedes, não o verá. Venha. Tenho uma coisa melhor para você do que frutas derrubadas pelo vento. Eles estiveram a colher os damascos e separei os melhores das cestas quando desci.
Ele seguiu em frente com seu andar gracioso de felino, pelas limas e a lavanda, até onde se encontravam os damasqueiros e os pessegueiros crucificados contra a muralha alta, frente ao sol. O local tinha um cheiro soporífico de ervas e frutos e os pombos arrulhavam no pombal. Aos meus pés achava-se um damasco maduro, como um pedaço de veludo ao sol. Empurrei-o com o dedão até conseguir rolá-lo e do outro lado havia um grande furo apodrecido, cheio de vespas. Uma sombra projetou-se sobre ele. Meu tio agigantava-se junto a mim com um damasco em cada mão.
— Disse-lhe que tinha algo melhor que frutas caídas. Aqui. — E me deu um. — E, se lhe baterem por ter roubado, terão que me bater também. — Sorriu e mordeu o fruto que segurava.
Fiquei parado com o damasco grande e brilhante seguro na concha da mão. O jardim estava muito quente, parado e silencioso, exceto pelo zumbido dos insetos. O fruto refulgia como ouro e cheirava a sol e sumo doce. A casca parecia a penugem de uma abelha dourada. Fiquei com a boca cheia dágua.
— O que foi? — perguntou meu tio. Parecia nervoso e impaciente. O sumo do seu damasco escorria-lhe pelo queixo. — Não fique aí olhando, menino! Não há nada de errado com o damasco, há?
Olhei para cima. Os olhos azuis, astutos como os de uma raposa, fitaram os meus. Encarei-o de volta.
— Não quero. Está preto por dentro. Olhe, pode ver-se como se fosse transparente.
Ele inspirou com força como se fosse falar. Então ouviram-se vozes do outro lado da muralha; eram os jardineiros, provavelmente trazendo as cestas de frutas vazias prontas para o dia seguinte. Meu tio, curvando-se, arrebatou a fruta de minha mão e atirou-a para longe contra a parede. Ela abriu-se num esparramar de polpa dourada contra os tijolos e o sumo escorreu. Uma vespa espantada de uma árvore passou zumbindo por nós. Camlach afugentou-a com a mão num gesto estranho e brusco e exclamou numa voz que subitamente destilava veneno:
— Afaste-se de mim depois disso, seu filho do demónio. Está-me ouvindo? Afaste-se de mim.
Passou as costas das mãos pela boca e retirou-se a passos largos em direção à casa.
Fiquei onde estava, contemplando o sumo do damasco escorrer pela parede quente. Uma vespa pousou sobre o filete, arrastou-se pegajosamente, e de repente caiu de costas no chão, a zumbir. Seu corpo dobrou-se, o zumbido aumentou num lamento enquanto ela se debatia e então imobilizou-se.
Eu mal vi, porque alguma coisa crescera em minha garganta até parecer sufocar-me e a tarde dourada flutuou brilhante nas minhas lágrimas. Essa foi a primeira vez na minha vida que me lembro de ter chorado.
Os jardineiros passavam pelas roseiras com as cestas à cabeça. Voltei-me e corri para fora do jardim.
Meu quarto estava vazio, e nem mesmo o cão-lobo lá estava. Subi na cama e apoiei os cotovelos no peitoril da janela, ficando ali por longo tempo, sozinho, enquanto do lado de fora os tordos cantavam nos galhos da pereira, e através da porta fechada chegava-me do pátio o martelar do ferreiro e o rangido do sarilho produzido pela mula ao rodear o poço.
Falha-me a memória neste ponto. Não consigo lembrar-me quanto tempo se passou até que a bulha e o zumbido de vozes me disseram que a refeição da noite estava sendo preparada.
Tampouco consigo lembrar-me o quanto estava magoado, mas quando Cerdic, o valete, empurrou a porta e eu voltei a cabeça, ele parou assustado, exclamando:
— Senhor, tende piedade de nós! O que andou fazendo? Brincando no curral?
— Caí.
— Oh, eu sei, você caiu. Não entendo por que o chão é sempre duas vezes mais duro para você do que para os outros! Quem foi? Aquele porquinho selvagem do Dinias?
Como não respondi, ele acercou-se da cama. Era um homem pequeno de pernas arqueadas, o rosto moreno vincado e um tufo de cabelo claro. De pé na cama, como estava, meus olhos ficaram quase ao nível dos dele.
— Vou-lhe dizer uma coi^a — continuou ele. — Quando você íor um tiquinho maior, vou-lhe ensinar umas duas coisas. Não é preciso ser grande para ganhar uma briga. Tenho uns truques que vale a pena conhecer, posso-lhe assegurar. É preciso, quando se é nanico. Digo-lhe que derrubo qualquer sujeito que tenha duas vezes o meu peso... e qualquer mulher também, é claro. — Ele riu, voltou a cabeça para cuspir, lembrou-se onde estava e, ao invés, pigarreou. — Não que você vá precisar dos meus truques uma vez crescido, um rapaz alto como é, nem para as moças tampouco. Mas é melhor dar uma olhada nesse seu rosto, se não quer assustar ninguém. Parece que vai ficar marcado. — Acenou a cabeça na direção do catre vazio de Moravik. — Onde está ela?
— Foi com minha mãe.
— Então é melhor você vir comigo. Vou dar um jeito nisso. Assim foi que o corte no malar foi tratado com unguento, e partilhei do jantar de Cerdic nos estábulos, sentado na palha, enquanto uma mula castanha me focinhava à procura de forragem e o meu pônei gorducho, com a corda toda esticada, acompanhava cada bocado que levávamos à boca. Cerdic devia ter um método próprio para as cozinhas também; os bolos estavam frescos, havia metade de uma perna de galinha para cada um, assim como toucinho salgado e cerveja saborosa e refrescante.
Quando voltou com a comida, vi pelo seu olhar que soubera de tudo. O palácio inteiro devia estar fervilhando. Mas ele nada disse, apenas me entregou a comida e sentou-se ao meu lado na palha.
— Contaram-lhe? — perguntei.
Ele assentiu com a cabeça, mastigando, e acrescentou com a boca cheia de pão e carne:
— Ele tem a mão pesada.
— Estava furioso porque ela se recusou a casar com Gorlan. Quer vê-la casada por minha causa, mas até hoje ela vem-se recusando a casar com todos os homens. E agora, desde que meu tio Dyved morreu e Camlach é o único que resta, eles convidaram Gorlan, da Bretanha Menor. Acho que meu tio Camlach persuadiu meu avô a convidá-lo, porque receia que ela se case com um príncipe galês...
Ele me interrompeu nesse ponto, parecendo surpreso e amedrontado.
— Psiu, criança! Como sabe de tudo isso? Tenho certeza de que os mais velhos não falam de assuntos de tal importância em sua presença. Só se é Moravik que fala o que não devia...
— Não. Não é Moravik. Mas sei que é verdade.
— Como, em nome do Trovão, você sabe tal coisa? Mexericos de escravos?
Dei o meu último pedaço de pão à mula.
— Se você jurar pelos deuses pagãos, Cerdic, você é que estará em apuros com Moravik.
— É mesmo. Essa espécie de apuros é muito fácil de arranjar. Vamos, quem é que tem estado a falar com você?
— Ninguém. Eu sei, é só. Não posso explicar como... E, quando ela recusou Gorlan, meu tio Camlach ficou tão furioso quanto meu avô. Teme que meu pai volte, case-se com ela e o expulse. Ele não admite isso para o meu avô, naturalmente.
— Naturalmente. — Ele estava com o olhar fixo e esquecera-se de mastigar, de modo que a saliva escorria-lhe pelo canto da h aberta. Engoliu apressado. — Os deuses sabem... Deus sabe de você ouviu tudo isso, mas poderia ser verdade. Bem, continue. A mula castanha me cutucava, fungando no meu pescoço. Afastei-a com a mão.
— É só isso. Gorlan está aborrecido, mas eles lhe darão alguma oisa E minha mãe acabará indo para São Pedro. Você vai ver.
Fez-se breve silêncio. Cerdic engoliu a carne e atirou o osso nara o lado de fora do estábulo, onde uns vira-latas precipitaram-se sobre ele e saíram a correr numa luta de rosnados.
— Merlin...
— Que é?
— Seria prudente você não falar disso com mais ninguém. Ninguém. Entendeu?
Não respondi.
— Esses são assuntos que uma criança não compreende. Assuntos de alta importância. Bem, alguns são voz corrente, concordo com você, mas isso do príncipe Camlach... — Ele apoiou a mão no meu joelho, apertou-o e sacudiu-o. — Vou-lhe dizer, ele é perigoso, aquele ali. Deixe estar e fique fora de vista. Não vou contar a ninguém, pode confiar em mim. Mas, você, você não deve falar mais. Já seria bastante ruim se você fosse um príncipe por direito de nascença, ou mesmo um favorito do Rei como aquela cria ruiva do Dinias, mas para você... — Sacudiu meu joelho outra vez. — Está prestando atenção, Merlin? Pela sua própria pele, fique calado e fora do caminho deles. E diga-me quem lhe contou tudo isso.
Pensei na gruta escura do hipocausto e no céu distante acima da chaminé.
— Ninguém me disse. Juro. — Quando ele emitiu um som de impaciência e preocupação, encarei-o de frente e contei-lhe tanto da verdade quanto ousei. — Tenho ouvido coisas, admito, às vezes, as pessoas falam sobre a nossa cabeça sem reparar que estamos presentes ou sem pensar que compreendemos. Mas outras vezes... — Fiz uma pausa... — É como se alguém falasse comigo, como se eu visse as coisas... E às vezes as estrelas me contam... e há músicas e vozes na escuridão. Como sonhos...
Sua mão ergueu-se num gesto de proteção. Pensei que se fosse persignar, mas logo vi o sinal contra o mau-olhado. Ele pareceu envergonhado disso e deixou cair a mão.
— Sonhos, é o que são. Você tem razão. Você dormiu em algum canto, provavelmente, e conversaram sobre sua cabeça quando não deviam e você ouviu coisas que não devia. Estava-me esquecendo de que é apenas uma criança. Quando me encara com esses olhos... — Ele parou e encolheu os ombros. — Mas vai-me prometer que não vai falar mais sobre o que ouviu.
— Está bem, Cerdic. Prometo-lhe. Se você prometer contar-me uma coisa em troca.
— O que é?
— Quem era meu pai.
Ele engasgou com a cerveja. Então deliberadamente limpou a espuma, pousou o chifre e me encarou exasperado.
— Ora, como pôde pensar que sei isso?
— Achei que Moravik poderia ter-lhe contado.
— E ela sabe? — Pareceu tão surpreso que vi que dizia a verdade.
— Quando perguntei, ela apenas disse que havia coisas sobre as quais era melhor não falar.
— Ela tem razão. Mas, se você me perguntar, essa é a maneira dela de dizer que não sabe mais que o vizinho. E se me perguntar, jovem Merlin, embora você não o faça, isso é outra das coisas em que é melhor não se meter. Se a senhora sua mãe quisesse que você soubesse, ela lhe diria. Você vai descobrir bem cedo, imagino eu.
Vi que estava fazendo o sinal novamente, embora desta vez escondesse a mão. Abri a boca para perguntar se dava crédito às histórias, mas ele apanhou o chifre em que bebia e pôs-se de pé.
— Tenho a sua promessa. Lembra-se?
— Sim.
— Venho observando você. Você segue seu caminho e às vezes penso que está mais perto da natureza dos homens. Sabe que ela lhe deu o nome de um falcão?
Acenei a cabeça.
— Bem, aí está uma coisa para você refletir. É melhor esquecei-os falcões, por ora. Há muitos por aí, demais, verdade seja dita. Você já observou o pombo torcaz, Merlin?
— Esses que bebem na fonte com os pombos brancos e voam livremente? Claro que sim. Dou-lhes comida no inverno juntamente com os outros pombos.
— Costumavam dizer no meu país que o pombo torcaz tem muitos inimigos, porque sua carne é doce e seus ovos, saborosos. Mas ele vive e prospera porque foge. Lady Niniane pode tê-lo chamado de pequeno falcão, mas você ainda não é um falcão, jovem Merlin. É apenas um pombo. Lembre-se disso. Viva, mantendo-se quieto e fugindo. Anote minhas palavras. - Ele acenou a cabeça ti e estendeu a mão para erguer-me. . O corte ainda dói?
— Arde.
— Então está sarando. O ferimento não é de causar preocupação, vai passar logo.
E passou realmente, sem infeccionar, nem deixar marca. Mas lembro-me de como doeu aquela noite, deixando-me acordado, de modo que Cerdic e Moravik ficaram quietos no outro canto do quarto, receosos, suponho eu, de que fosse devido aos seus murmúrios que eu colhesse minhas informações.
Depois que adormeceram, saí devagarinho, passei pelo cão-lobo que sorria e corri para o hipocausto.
Mas naquela noite não ouvi nada que valesse a pena lembrar, exceto a voz de Olwen, meiga como a de um melro, entoando uma canção que eu nunca ouvira antes, sobre um ganso selvagem e um caçador com uma rede de ouro.
Depois disso, a vida voltou à sua tranquilidade rotineira e creio que meu avô deve ter finalmente aceitado a recusa de minha mãe de casar-se. As coisas permaneceram tensas entre eles por uma semana, se tanto, mas com Camlach em casa, e acomodado como se nunca tivesse deixado o local — e com a aproximação de uma boa temporada de caça — o Rei esqueceu os ressentimentos e as coisas se normalizaram.
Exceto talvez para mim. Depois do incidente no pomar. Camlach já não saía do seu caminho para me favorecer, nem eu para segui-lo. Mas ele não era de todo mau para comigo, e uma ou duas vezes defendeu-me em brigas com os outros meninos e tomou mesmo o meu partido contra Dinias, que me substituíra nas suas graças.
Mas eu já não precisava dessa espécie de proteção. Aquele dia de setembro ensinara-me outras lições além das de Cerdic sobre o pombo torcaz. Eu me encarregava de Dinias sozinho. Certa noite, engatinhando sob seu quarto, a caminho da minha gruta, aconte-ceu-me ouvi-lo e a seu companheiro Brys rirem-se a propósito de uma incursão naquela tarde em que os dois haviam seguido o amigo de Camlach, Alun, num encontro com uma das criadas, e ficaram escondidos espreitando e escutando até o doce final. Quando Dinias me atacou de surpresa na manhã seguinte, enfrentei-o e — citando uma frase ou outra — perguntei-lhe se já teria visto Alun naquele dia. Ele arregalou os olhos, enrubesceu, empalidecendo em seguida (pois Alun tinha a mão pesada e um génio à altura), e então saiu sorrateiramente, fazendo o sinal às suas costas. Se ele preferia pensar que era mágica em vez de simples chantagem, que pensasse. Depois disso, se o Suserano em pessoa tivesse reivindicado a minha paternidade, nenhuma das crianças lhe teria dado crédito. Deixaram-me em paz.
O que era tanto melhor, pois durante aquele inverno parte do assoalho da casa de banhos desmoronou, e meu avô, considerando a coisa toda perigosa, mandou aterrá-la e deitar veneno contra ratos. Portanto, como um lobinho desentocado da terra, com fumaça, tive que me defender sozinho na superfície.
Cerca de seis meses após a visita de Gorlan, entre o fim de um fevereiro frio e o desabrochar de março, Camlach começou a insistir primeiro com minha mãe e a seguir com meu avô, em que me fosse ensinado a ler e escrever. Minha mãe, creio eu, ficou agradecida por essa evidência do seu interesse por mim; eu próprio me alegrei e tive o cuidado de demonstrá-lo, embora depois do incidente no pomar não pudesse guardar ilusões sobre seus motivos. Mas não fazia mal algum deixar Camlach pensar que meus sentimentos a respeito da vida sacerdotal tivessem sofrido uma mudança. A declaração de minha mãe de que nunca se casaria, a par de um maior retiro junto às suas damas e as visitas frequentes a São Pedro para conversar com a Abadessa e os padres que visitavam a comunidade, eliminaram seus piores receios de que ela viesse a casar-se com um príncipe galês que pudesse alimentar esperanças de conquistar o reino por direito de casamento, ou que o meu pai desconhecido viesse reivindicá-la, legitimar-me e provar ser um homem de posição e poder que o pudesse suplantar pela força. Não se preocupava Camlach com que, em qualquer dos casos, eu representasse algum perigo para si, e agora menos que nunca, visto que ele tomara uma esposa antes do Natal, a qual já em princípios de março aparentava estar grávida. Mesmo a gravidez cada vez mais óbvia de Olwen não o ameaçava, pois Camlach gozava de alto conceito junto ao Rei e não era provável que um irmão tão mais novo viesse a representar grave perigo. Não poderia haver dúvidas, Camlach tinha um passado de lutas, sabia fazer com que os homens o apreciassem, era implacável e ao mesmo tempo sensato. A crueldade transparecia no que tentara fazer comigo no pomar; a sensatez, na sua bondade indiferente, uma vez que a decisão de minha mãe removera uma ameaça para ele. Mas reparei isso nos homens ambiciosos ou de poder: temem até a menor e mais improvável das ameaças. Ele nunca teria descanso enquanto não me visse ordenado e seguro fora do palácio.
Quaisquer que fossem seus motivos, fiquei satisfeito quando chegou o meu preceptor. Era um grego que fora escriba em Massília até que, endividando-se com a bebida, se tornara escravo; agora tora destacado para o meu serviço e, como estivesse grato pela mudança de condição e aliviado do trabalho braçal, ensinava-me bem, sem a parcialidade religiosa que prejudicava os ensinamentos dos padres amigos de minha mãe. Demetrius era um homem agradável e inteligente, com talento para as línguas e cujas únicas diversões eram o jogo de dados e, quando ganhava, a bebida. Às vezes, quando ganhava o bastante, eu o encontrava feliz e inutilizado a dormir sobre os livros. Nunca falei a ninguém dessas ocasiões e, na verdade, ficava satisfeito com a oportunidade de tratar dos meus próprios assuntos; ele, por sua vez, era grato pelo meu silêncio, e quando eu, alguma vez, fazia gazeta, ele se calava e não procurava saber onde eu estivera. Eu era rápido em recuperar-me nos estudos e apresentava um progresso mais do que suficiente para satisfazer minha mãe e Camlach, de modo que Demetrius e eu respeitávamos os nossos segredos mútuos e nos dávamos toleravelmente bem.
Certo dia de agosto, quase um ano depois da visita de Gorlan à corte do meu avô, deixei Demetrius curando tranquilamente sua ressaca ecavalguei sozinho pelas montanhas atrás da cidade.
Estivera por aqueles lados diversas vezes. Era mais rápido subir passando pelas muralhas do quartel e então tomar a estrada militar para leste através das montanhas para Caerleon, mas isso significava atravessar a cidade e talvez ser visto e interpelado. O caminho que tomei seguia margeando o rio. Havia um portão não muito usado. que saía diretamente dos nossos estábulos para a trilhalarga e plana por onde passavam os cavalos que rebocavam as barcaças e que acompanhava o rio por longa distância; passava por São Pedro e contornava os mendros tranquilos do Tywy até o moinho, onde chegavam as barcaças. Eu nunca passara desse ponto, mas havia uma trilha que continuava além do moinho até à estrada e seguia pelo vale do rio tributário que ajudava a mover o moinho.
Era um dia quente e sonolento, com o ar cheirando a mato. Libélulas azuis esvoaçavam brilhantes sobre o rio e as grinaldas-de-noiva formavam um tapete espesso sob as nuvens de moscas.
As patas seguras do meu pônei batiam de leve na argila cozida do caminho de reboque. Encontramos um grande cavalo malhado a arrastar vagaroso uma barcaça vazia do moinho a favor da corrente. O menino encarapitado no seu lombo gritou um cumprimento e o homem da barcaça fez com a mão um aceno.
Quando alcancei o moinho, não havia ninguém à vista. Sacos de grão, recém-descarregados, empilhavam-se no cais estreito. Ao lado deles, deitara-se esparramado sob o sol quente o cão do moleiro, que mal abriu um olho quando parei o cavalo à sombra da casa. Xo alto, o estirão longo e reto da estrada militar estava vazio. A corrente precipitava-se por uma galeria subterrânea e vi uma truta saltar brilhante em meio à espuma.
Passar-se-iam horas antes que dessem pela minha ausência. Coloquei o pônei no barranco apontado para a estrada, venci a breve luta quando ele tentou virar-se para voltar para casa, e então incitei-o a um meio galope pela trilha que seguia rio acima para as colinas.
A trilha dava voltas e mais voltas a princípio, galgando o lado íngrime do rio, e então deixava para trás as figueiras e carvalhos finos que cobriam a ravina e continuava em direção ao norte, numa curva suave e plana, ao longo da encosta descampada.
Ali os aldeões apascentavam seu gado, de modo que o capim era macio e rente. Passei a trote por um pastorzinho sonolento sob uma moita de espinheiro, perto das ovelhas; era um menino simples e humilde e apenas me olhou, distraído, tateando a pilha de seixos com os quais controlava suas ovelhas. Quando passamos, apanhou um deles, um seixo liso e verde, e fiquei a imaginar se o iria atirar em mim, mas ao invés usou-o para fazer voltar umas ovelhas gordas que e se afastavam demasiado enquanto pastavam e retomou os seussonhos. Havia algum gado negro um pouco adiante no pasto, mais abaixo junto ao rio, onde o capim crescia alto, mas não consegui ver o peão. Distante, ao pé da montanha, minúscula ao lado de um casebre minúsculo, vi uma moça com um bando de gansos.
Daí a pouco, a trilha começou a subir novamente, e meu pônei diminuiu a marcha, escolhendo o caminho por entre árvores esparsas. As aveleiras estavam coalhadas de frutos, sorveiras e urzes cresciam entre pedras cobertas de musgo e as samambaias chegavam à altura do peito. Coelhos corriam por toda parte, disparando por entre os fetos e dois gaios ralhavam com uma raposa, seguros no alto de um carpino balouçante. A terra estava dura demais, suponho eu, para se deixarem rastos, mas não vi nenhum sinal de samambaias esmagadas nem de galhos partidos que indicasse ter qualquer outro cavaleiro passado recentemente por aquelas paragens.
O sol ia alto. Uma brisa leve passava pelos espinheiros, fazendo chocalhar os frutinhos verdes e duros. Incitei o pônei a prosseguir. Agora, entre os carvalhos e azevinhos surgiam pinheiros, os troncos avermelhados à luz do sol. O chão tornava-se mais acidentado à medida que a trilha subia, projetando-se do relvado pedras cinzentas e nuas e um rendilhado de tocas de coelho. Eu não sabia onde terminaria a trilha, não sabia coisa alguma, exceto que estava só e livre. Nada havia que me indicasse que espécie de dia seria aquele ou que estrela me guiaria montanha acima. Isto aconteceu em época anterior àquela em que o futuro se tornou claro para mim.
O pônei hesitou, e voltei a mim. Havia uma bifurcação na trilha sem nenhuma indicação de qual seria a melhor a seguir. Tanto a direita quanto a esquerda contornavam um bosque.
O pônei voltou-se decidido para a esquerda, já que era uma descida. Eu o teria deixado prosseguir, só que naquele instante um pássaro passou voando baixo pela trilha à minha frente, da esquerda para a direita, e desapareceu entre as árvores. Asas pontiagudas, um relampejo de ferrugem e azul acinzentado, os olhos escuros e intensos, o bico curvado de um falcão. Sem razão alguma, exceto que aquela seria melhor que nenhuma razão, voltei a cabeça do pônei naquela direção e meti os calcanhares no animal.
A trilha subia numa curva suave, deixando o bosque para a esquerda. Ali a vegetação era principalmente formada por pinheiros, densamente agrupados e escuros, e tão maciços que uma pessoa só poderia abrir caminho pela mata com um machado. Ouvi um bater de asas quando um pombo torcaz saiu do abrigo, mergulhando invisível para o lado mais distante das árvores. Seguira para a esquerda. Desta vez, segui o falcão.
Estávamos agora fora do campo de visão do vale e da cidade. O pônei escolhia o caminho pelo lado de um vale raso, ao pé do qual corria um riacho estreito e rápido. Do lado oposto da corrente a encosta relvada subia até os seixos e acima apareciam as rochas azuis e cinzentas ao sol. A encosta por onde eu cavalgava estava pontilhada de espinheiros que projetavam poças de sombra oblíqua e, mais acima, outra vez seixos e rochedos cobertos de hera, onde as gralhas rodopiavam e gritavam na luminosidade do ar. Afora a algazarra dos pássaros, o vale apresentava a mais completa quietude.
Os cascos do pônei ecoavam na terra cozida. Fazia calor e eu sentia sede. Agora a trilha corria sob um rochedo baixo, de uns seis metros, talvez, enquanto na sua base uma moita de espinheiros projetava sombras no caminho. Em algum lugar próximo, acima de mim, eu ouvia um filete de água a correr.
Parei o pônei e desci. Levei-o para a sombra do espinheiro e amarrei-o; então, corri os olhos ao redor à procura da fonte de água.
A rocha junto à trilha estava seca e abaixo da trilha não havia sinal algum de água que corresse para engrossar o rio ao pé do vale. as o som de água corrente era contínuo e inconfundível. Deixei a trilha e subi pelo relvado que ladeava a pedra para encontrar-me num pequeno relvado seco, salpicado de dejetos de coelhos, e ao fundo outra face de rochedo.
Nessa face do rochedo havia uma gruta. A entrada arredondada era um tanto pequena e bastante regular, quase como um arco construído. Do lado direito, estando eu de frente, havia uma encosta de pedras há muito caídas do alto, coberta de carvalhos e sorveiras cujos galhos pendentes sombreavam a gruta. Do outro lado, a pouca distância do arco, encontrava-se a fonte.
Aproximei-me. Era pequenina, um movimento quase imperceptível de água a escorrer de um sulco na face do rochedo, caindo por um filete contínuo numa bacia redonda de pedra. Não transbordava. Provavelmente a água saía da rocha, caía na bacia e escorria por outra brecha, indo juntar-se por fim ao rio lá embaixo. Através da água transparente eu via cada seixinho, cada grão de eia no fundo da bacia. Fetos cresciam no alto, havia musgo na horda e relva verde e úmida na base.
Ajoelhei-me na relva e já aproximava os lábios da água quando -' uma caneca. Estava metida num pequeno nicho entre os fetos. Media um palmo e era feita de chifre marrom. Ao erguê-la, vi acima, semi-oculta pelos fetos, uma pequena escultura de madeira representando um deus. Reconheci-o. Já o vira sob o carvalho em Tyr Myrddin. Ali estava ele, no alto de sua colina, ao ar livre.
Enchi a caneca e bebi, deixando cair no chão algumas gotas para o deus.
E entrei na gruta.
Era maior do que parecera do exterior. A apenas alguns passos do arco — e meus passos eram muito curtos — a gruta abría-se numa câmara aparentemente ampla cujo teto se perdia nas sombras. Estava escura, mas, ainda que a princípio eu não tivesse notado, nem procurado a causa, havia uma fonte de luz que lhe emprestava uma claridade ténue e mostrava o chão liso e livre de obstáculos. Prossegui muito lentamente, apurando a vista e sentindo bem no íntimo o começo daquela onda de excitação que as grutas sempre provocaram em mim. Alguns homens experimentam isso com a água; outros, eu sei, com lugares altos; outros ateiam fogo pelo mesmo prazer; comigo tem sempre sido as profundezas cia floresta ou as profundezas da terra. Agora, sei por quê; mas, então, eu apenas sabia que era um menino que encontrara um lugar novo, algo que talvez pudesse transformar em sua propriedade num mundo em que nada possuía.
No momento seguinte estaquei, abatido pelo choque que me esvaziou a excitação das entranhas como se fosse água. Alguma coisa se movera nas sombras logo à minha direita.
Fiquei imóvel, esforçando-me por ver. Não havia movimento algum.
Prendi a respiração, à escuta. Não havia som algum. Apurei as narinas, testando cautelosamente o ar ao meu redor. Não havia cheiro, nem animal, nem humano; a gruta cheirava, achei eu, a fumaça, rocha úmida, à própria terra, um cheiro estranho, enfim, que eu não conseguia identificar. Eu sabia, sem racionalizar, que se tivesse estado outra criatura perto de mim o ar teria um odor diferente, menos vazio. Não havia ninguém ali.
Experimentei dizer uma palavra baixinho, em galês. "Saudações." O sussurro voltou direto para mim num eco tão veloz que percebi estar eu muito próximo à parede da caverna, indo perder-se, sibilando, no teto.
Havia um movimento ali: a princípio, pensei, apenas uma intensificação do eco do sussurro, então o farfalhar aumentou cada vez mais como o farfalhar de um vestido de mulher ou de uma cortina agitada pelo vento. Algo passou pelo meu rosto com um guincho débil, quase sem som. Outro se seguiu, e acompanhando-os, como flocos sucessivos, as sombras e guinchos, caindo do teto como folhas num pé-de-vento, ou peixes numa cachoeira. Eram morcegos que, espantados do seu abrigo no alto da caverna, se precipitavam agora para o vale iluminado. Estariam saindo pelo arco baixo como um rolo de fumaça.
Permaneci imóvel imaginando se seriam eles os responsáveis pelo curioso odor de mofo. Pensei poder senti-lo agora à sua passagem, mas não era o mesmo. Não tinha medo de que me tocassem; na escuridão ou na luz, qualquer que seja a velocidade, morcegos não batem em nada. São criaturas do ar a tal ponto, creio eu, que à medida que o ar se move à frente de um obstáculo, o morcego é varrido para o lado no mesmo movimento, como uma pétala na correnteza de um rio. Mergulharam passando por mim, numa maré de guinchos agudos, entre mim e a parede. Infantilmente, para ver o que ocorreria à torrente — como se desviaria — aproximei-me mais um passo da parede. Nada me tocou. A corrente se dividiu e continuou caminho, o vento roçando-me ambas as faces. Era como se eu não existisse. Mas, no momento exato em que me mexi, a criatura que eu vira mexeu-se também. Então minha mão estendida encontrou, não a rocha, mas metal, e percebi quem era a criatura. Era meu próprio reflexo.
Pendurada na parede estava uma folha de metal fracamente polida. Era essa, então, a fonte de luz difusa no interior da caverna; a superfície sedosa do espelho apanhava obliquamente a luz da entrada da gruta e a refletia para a escuridão. Podia ver-me movendo no espelho como um fantasma, ao recuar e deixar cair a mão que segurara instintivamente a faca na cintura.
Às minhas costas o fluxo de morcegos cessara e a gruta voltara ao silêncio. Reconfortado, permaneci onde estava, estudando com interesse a imagem no espelho. Minha mãe possuíra um desses, uma antiguidade egípcia, mas julgando tais coisas vaidade, guardara-o. Naturalmente eu via com frequência meu rosto refletido na água, nias nunca, até então, meu corpo. Vi um menino moreno, desconfiado, todo olhos de curiosidade, nervos e excitação. Naquela luz meus olhos pareciam bem pretos; meu cabelo era preto também, espesso e limpo, mas mais mal cortado e cuidado do que o do meu pônei; a túnica e as sandálias eram uma desgraça. Sorri e o espelho refletiu num clarão um sorriso súbito que mudou a figura completa e instantaneamente; do pequeno animalzinho circunspecto e preparado para correr ou lutar, para algo rápido, meigo e abordável; algo que eu percebi mesmo então, que poucas pessoas jamais teriam visto.
Então desapareceu, e o animal desconfiado voltou, ao curvar-me para correr a mão pelo metal. Era frio, liso e recém-polido. Quem quer que o tivesse pendurado — e deveria ser a mesma pessoa que usava a caneca de chifre do lado de fora — ou estivera ali muito recentemente ou ainda ali morava, e poderia voltar a qualquer momento e surpreender-me.
Eu não estava especialmente receoso. Pusera-me em guarda quando vira a caneca, mas aprendi muito cedo a cuidar de mim mesmo e a época em que fora criado era bastante tranquila, ao menos no nosso vale; mas havia sempre homens selvagens, cruéis, desesperados e vagabundos para enfrentar, e qualquer menino que gostasse de andar só, como eu, devia estar preparado para defender a própria pele. Eu era musculoso e forte para a idade e trazia uma adaga. Que tivesse apenas sete anos de idade nunca me passara pela cabeça; eu era Merlin e, bastardo ou não, o neto do Rei. Continuei minha exploração.
A próxima coisa que encontrei, a um passo da parede, foi uma caixa, e sobre ela formas que minhas mãos identificaram imediatamente como sílex, ferro e isqueiro (*), e uma vela grande e tosca que cheirava a sebo de carneiro. Ao lado desses objetos, outra forma que, incredulamente, centímetro por centímetro, identifiquei como o crânio de um carneiro. Aqui e ali havia tachas cravadas na superfície da caixa que aparentemente prendiam fragmentos de couro. Ao tocá-los, cuidadoso, descobri no couro desgastado o arcabouço de ossos delicados; eram morcegos mortos, esticados e pregados à madeira.
(*) No original, tinderbox: estojo em que se guardavam a isca, o fuzil e a pederneira para fazer fogo. (N. da T.).
Aquela era na verdade a gruta do tesouro. Nenhuma descoberta de ouro ou armas poderia ter-me excitado mais. Cheio de curiosidade, apanhei o isqueiro.
Então ouvi-o regressar.
Meu primeiro pensamento foi de que ele deveria ter visto meu pônei, mas então percebi que ele vinha do alto da colina. Podia ouvir as pedrinhas batendo e rolando à medida que descia a ladeira acima da caverna. Uma das pedrinhas caiu na fonte do lado de fora e então já era tarde demais. Ouvi-o pular sobre o relvado plano junto à água.
Era hora do pombo torcaz outra vez; o falcão foi esquecido. Corri para o fundo da gruta. Quando ele afastou os galhos que obscureciam a gruta, a luz aumentou momentaneamente, o suficiente para mostrar-me o caminho. Ao fumlo da gruta havia uma 'nclinação e um ressalto na rocha e, a uma altura duas vezes a minha, um degrau meio largo. Um raio de sol refletido no espelho bateu numa parte escura da rocha, acima do degrau, que seria suficientemente grande para ocultar-me. Silencioso nas minhas sandálias rotas, trepei no degrau e espremi-me no canto escuro, descobrindo que na verdade se tratava de uma brecha na rocha que se abria aparentemente para uma segunda gruta, menor. Escorreguei pela brecha como uma lontra no barranco do rio.
Parecia que ele não ouvira nada. A luz foi cortada outra vez quando os galhos voltaram à posição original e ele entrou na gruta. Eram passos de homem, medidos e lentos.
Se eu me tivesse dado ao trabalho de pensar, creio que teria presumido que a gruta estaria desabitada pelo menos aié o pôr do sol, e que quem quer que fosse o dono do lugar estaria fora caçando ou tratando da vida e só voltaria ao cair da noite. Não havia necessidade de gastar velas quando o sol brilhava lá fora. Talvez ele estivesse ali apenas trazendo a caça e se iria embora outra vez, deixando-me a oportunidade de escapar. Esperava que ele não visse o pônei amarrado na moita de espinheiro.
Então ouvi-o mover-se, com os passos firmes de alguém que conhece o caminho de olhos vendados, na direção da vela e do isqueiro.
Mesmo agora eu não tinha motivo para apreensões, nenhum motivo para nada a não ser um pensamento ou sensação: o extremo desconforto da gruta em que me metera. Era aparentemente pequena, não muito maior que uma tina dessas que se usam para tingir, e de forma bem semelhante. Chão, teto e paredes envolviam-me numa curva contínua. Era como se eu estivesse no interior de um grande globo — mas um globo cravejado de pregos ou com a superfície interna toda coberta de pedacinhos de pedra lascada. Não parecia haver um centímetro da superfície que não estivesse eriçada como um leito de sílex e apenas o meu pouco peso, creio eu, poupava-me o ser cortado, enquanto procurava às cegas um espaço desimpedido para deitar-me. Encontrei um lugar mais liso que o resto e enrosquei-me ali o mais que pude, vigiando a abertura mal delineada e passando silenciosamente a adaga da bainha para a mão.
Ouvi o sibilar curto e o tinir do sílex contra o ferro e então um clarão de luz intensa na escuridão, quando a isca pegou. E a seguir, o brilho firme e céreo da vela acesa.
Ou antes, deveria ter sido um çlajjío de intensidade crescente da luz de uma vela o que vi, mas ao invés houve um clarão, uma fagulha e uma conflagração como se um farol embebido em resina estivesse rugindo em chamas. A luz piscava carmim, ouro, branco, vermelho, intolerável na minha gruta. Apertei os olhos para evitá-la, assustado agora, sem pensar na dor e na pele cortada ao encolher-me contra as paredes aguçadas. O globo inteiro onde me encontrava deitado parecia em chamas.
Era na verdade um globo, uma câmara arredondada de chão, teto e paredes revestidos de cristais. Eram finos como vidro, e lisos como vidro, mas mais transparentes que qualquer vidro que eu tivesse visto, faiscantes como diamantes. Isto, na realidade, foi o que pareceram, a princípio, à minha mente infantil. Eu estava num globo revestido de diamantes, um milhão de diamantes incandescentes, a face de cada gema a piscar com a luz, refletindo-se de uma para outra, de diamante para diamante e de volta novamente, com arco-íris, rios e estrelas a explodir, e a forma como de um dragão carmim a galgar as paredes, enquanto, abaixo dele, o rosto de uma moça flutuava, lânguido, de olhos fechados, e a luz dirigida bem para o meu corpo como se quisesse fender-me.
Fechei os olhos. Quando os abri outra vez, vi que a luz dourada encolhera e se concentrara numa única parte da parede não maior que minha cabeça, e dali, despojada de visões, irradiava fachos entrecortados e brilhantes.
Reinava o silêncio na gruta abaixo. Ele não se movera. Não se ouvia nem o farfalhar das suas vestes.
Então a luz se moveu. O disco luminoso começou a deslizar lentamente pela parede de cristal. Eu tremia. Aconcheguei-me mais às pedras pontiagudas, tentando evitá-lo. Não havia para onde ir. Avançou lentamente pela curva. Tocou o meu ombro, minha cabeça, e eu abaixei-me, encolhendo-me. A sombra do meu movimento perpassou pelo globo como um redemoinho produzido pelo vento num lago.
A luz parou, recuou, fixou-se coruscante em seu lugar. Então desapareceu. Mas o brilho da vela, estranhamente, permaneceu; um brilho comum, firme e amarelo para além da abertura da parede do meu refúgio.
— Saia.
A voz do homem, não alta, não levantada para gritar ordens como a de meu avô, era clara e concisa com todo o mistério do comando. Não me ocorreria desobedecê-la. Arrastei-me para a frente, sobre os cristais pontiagudos, e pela abertura. Então, lentamente, pus-me de pé no degrau, as costas contra a parede da gruta exterior, a adaga pronta na mão direita, e olhei para baixo.
Ele estava de pé entre mim e a vela; uma figura imensamente alta (ou pelo menos assim me parecia), numa veste longa de tecido grosseiro marrom. A vela transformava-lhe o cabelo numa nuvem que parecia cinzenta e ele usava barba. Não conseguia ver-lhe a expressão, e a mão direita dele encontrava-se oculta nas dobras da veste.
Esperei, numa atitude cautelosa. Ele voltou a falar no mesmo tom.
— Guarde sua adaga e desça.
— Quando eu vir sua mão direita — respondi-lhe.
Mostrou-a, de palma para cima. Estava vazia. E disse, em tom sério:
— Estou desarmado.
— Então fique fora do caminho — disse eu e pulei. A gruta era larga, e ele estava parado num dos lados. Meu pulo levou-me três ou quatro passos adiante, e já o passara e achava-me perto da entrada, antes que ele tivesse podido dar mais que um passo. Mas, na verdade, ele nem se moveu. Quando alcancei a entrada da gruta e afastei os galhos pendentes, ouvi-o rir-se.
O som me fez parar. Voltei-me.
Dali, à luz que agora invadia a gruta, vi-o claramente. Era velho, o cabelo grisalho rareando no alto da cabeça e caindo liso pelas orelhas, e um tufo de barba grisalha irregularmente aparada. Suas mãos eram calosas e encardidas, mas percebia-se que tinham sido delicadas, e os dedos, longos. Agora, as veias do velho cruzavam-se e entrecruzavam-se sobre elas, dilatadas como vermes. Mas foi o seu rosto que me prendeu; era magro, cavernoso, quase como um crânio, a testa alta e as sobrancelhas espessas que se juntavam sobre os olhos, onde não se viam quaisquer traços de idade. Os olhos eram muito próximos, grandes e de um cinzento curiosamente transparente e flutuante. O nariz era fino e adunco; a boca, agora sem lábios, alargava-se num imenso sorriso, deixando entrever dentes surpreendentemente bons.
— Volte. Não precisa ter medo.
— Não estou com medo. — Deixei os galhos cairem e, não sem um pouco de bravata, caminhei em sua direção. Parei a alguns passos de distância. — Por que deveria temê-lo? Sabe quem eu sou?
Ele fitou-me por uns instantes, parecendo refletir.
— Deixe-me ver. Cabelos escuros, olhos escuros, corpo de bailarino e modos de um jovem lobo... ou deveria dizer de um jovem falcão?
Minha adaga escorregou pelo lado.
— Então o senhor me conhece?
— Digamos que eu sabia que viria um dia e hoje eu sabia que havia alguém aqui O que acha que me trouxe de volta tão cedo?
— Como sabia que havia alguém aqui? Oh, naturalmente o senhor viu os morcegos.
— Talvez.
— Eles sempre saem voando assim?
— Só com estranhos. A sua adaga, senhor. Coloquei-a de volta no cinto.
— Ninguém me chama de senhor. Sou bastardo. Isto quer dizer que pertenço a mim mesmo, a ninguém mais. Meu nome é Merlin, mas o senhor sabia disso.
— E o meu é Galapas. Está com fome?
— Estou — respondi. Mas disse-o um tanto duvidoso, pensando no crânio e nos morcegos mortos.
Surpreendentemente ele entendeu. Os olhos cinzentos piscaram.
— Fruta e bolos de mel? E água doce da fonte? Que melhor comida obteria mesmo na casa do Rei?
— Eu não obteria isso na casa do Rei a esta hora do dia — respondi-lhe com sinceridade. — Muito obrigado, senhor, terei prazer em comer em sua companhia.
Ele sorriu.
— Ninguém me chama de senhor. Eu também não pertenço a ninguém. Saia e sente-se ao sol que eu lhe levarei a comida.
A fruta eram maçãs que tinham a aparência e o sabor exata-mente iguais às do pomar do meu avô, de modo que lancei um olhar de esguelha ao meu anfitrião, estudando-o à luz do dia, imaginando se alguma vez o teria visto à beira do rio ou em qualquer outra parte da cidade.
— O senhor tem esposa? — perguntei. — Quem faz os bolos de mel? Estão muito bons.
— Não tenho esposa. Disse-lhe que não pertencia a nenhum homem, e tampouco a nenhuma mulher. Você verá, Merlin, como toda a sua vida homens e mulheres também tentarão colocar grades à sua volta, mas você escapará dessas grades, ou as dobrará, ou as derreterá à sua vontade até que, quando desejar, os aceite à sua volta e fique por trás deles, nas sombras. Consigo os bolos de mel com a mulher do pastor; ela faz o suficiente para três, e é bastante bondosa em separar alguns para fazer caridade.
— Então, é um ermitão? Um homem santo?
— Pareço um homem santo?
— Não. — Isto era verdade. As únicas pessoas que me lembro de temer naquela época eram os homens santos, solitános, que às vezes vagueavam, pregando e mendigando, pela cidade; homens estranhos, arrogantes e barulhentos, com um brilho de loucura no olhar e um cheiro que eu associava aos montes de detritos junto aos matadouros. Era às vezes difícil saber a que deus professavam servir. Alguns deles, murmurava-se, eram druidas que continuavam oficialmente fora da lei, embora no País de Gales, em certos lugares do campo, ainda praticassem seus ritos sem muita interferência. Muitos eram seguidores dos antigos deuses — as divindades locais — e já que estas variavam de popularidade de acordo com a estação, os respectivos sacerdotes tendiam a trocar a lealdade de tempos em tempos para aqueles cuja coleta fosse mais rica. Mesmo os cristãos procediam assim às vezes, mas podiam-se em geral reconhecer os verdadeiros cristãos porque eram os mais sujos. Os deuses romanos e seus sacerdotes ficavam solidamente entrincheirados nos seus templos em ruínas, mas faziam igualmente uma boa coleta. A Igreja reprovava-os, mas não havia muito o que pudesse fazer. — Vi um deus naquela fonte do lado de fora — aventurei.
— Sim. É Myrddin. Ele me empresta sua fonte, sua montanha oca e o seu céu tecido de luz e em retribuição entrego-lhe o que lhe é devido. Não se devem negligenciar os deuses de um local, quaisquer que sejam. No fundo, são todos um só.
— Se o senhor não é ermitão, então o qtie é?
— No momento, um professor.
— Eu tenho um preceptor. Ele é de Massília, mas na realidade já esteve em Roma. A quem é que o senhor ensina?
— Até agora ninguém. Estou velho e cansado e vim para cá morar sozinho e estudar.
— Por que é que o senhor tem morcegos mortos lá na caixa?
— Estava a estudá-los. Arregalei os olhos.
— Estudar morcegos? Como pode estudar morcegos?
— Estudo a maneira como são feitos, a maneira como voam, se reproduzem e se alimentam. A maneira como vivem. Não só morcegos, mas animais e peixes, e plantas e pássaros, tantos quantos vejo.
— Mas isso não é estudo! — Olhei-o admirado. — Demetrius, o meu preceptor, diz que observar os lagartos e os pássaros é sonhar e perder tempo, embora Cerdic, um amigo, me tenha aconselhado a estudar os pombos torcazes.
— Por quê?
— Porque são velozes, sossegados e permanecem fora de vista. Porque põem apenas dois ovos, mas ainda que toda a gente os cace, homens, feras e falcões, há mais pombos torcazes que qualquer outra coisa.
— E não se deixam prender em gaiolas. — Tomou um gole de água, observando-me. — Então, você tem um preceptor. Sabe ler?
— Naturalmente.
— Sabe ler grego?
— Um pouquinho.
— Então venha comigo.
Ele levantou-se e entrou na caverna. Segui-o. Acendeu a luz mais uma vez — apagara-a para poupar o sebo — e à sua claridade abriu a tampa da caixa. No seu interior vi livros em rolos, mais livros juntos do que eu jamais imaginara que existissem no mundo. Observei-o enquanto escolhia um, fechava a tampa cuidadosamente e o desenrolava.
— Veja.
Com prazer, vi o que era. Um desenho garatujado, mas claro, do esqueleto de um morcego. E do lado, em letras gregas bem desenhadas, frases que eu, imediatamente, esquecendo-me da presença de Galapas, comecei a soletrar para mim mesmo.
Passados um minuto ou dois, sua mão tocou-me o ombro.
— Traga-o para fora. — Arrancou das tachas que prendiam um dos corpos secos e duros à tampa da caixa e ergueu-o cuidadosamente na palma da mão. — Sopre a vela. Vamos examinar isto juntos.
E assim, sem mais perguntas, e sem mais cerimónia, começou minha primeira lição com Galapas.
Somente quando o sol, já baixo sobre um lado do vale, proje-tava uma sombra alongada pela encosta acima, me lembrei da outra vida que me esperava e da distância que teria de percorrer. Pus-me de pé.
— Tenho que ir! Demetrius não dirá nada, mas se eu chegar atrasado para a ceia perguntarão o motivo.
— E você não pretende dizer-lhes?
— Não, do contrário me impediriam de vir novamente.
Ele sorriu sem fazer comentários. Duvido que eu tenha notado, então, a tranquila presunção em que se baseara o nosso encontro; ele não perguntara como eu viera nem por quê. E por ser apenas uma criança tomei-o como certo também, embora por polidez perguntasse:
— Posso vir novamente, não posso?
— Naturalmente.
— É... é difícil dizer quando. Nunca sei quando poderei escapar... quero dizer quando estarei livre.
— Não se preocupe. Saberei quando você vem. E estarei aqui. Ele enrolava o livro com os dedos longos e finos.
— Da mesma forma que soube hoje.
— Oh! Estava esquecendo. O senhor quer dizer que eu entro na caverna e espanto os morcegos?
— Se quiser. Ri com prazer.
— Nunca encontrei ninguém igual ao senhor! Fazer sinais de fumaça com morcegos! Se eu contasse isso, nunca me dariam crédito, nem mesmo Cerdic.
— Você não contará nem mesmo a Cerdic. Assenti.
— Isso mesmo. A ninguém. Agora preciso ir-me. Até logo, Galapas.
— Até logo.
E assim foi nos dias e nos meses que se seguiram. Sempre que podia, uma vez e, ocasionalmente, duas vezes por semana, subia o vale em demanda da gruta. Ele certamente parecia saber quando eu vinha, pois quase sempre se encontrava à minha espera com os livros separados; mas quando não havia sinal dele, eu fazia conforme combináramos, e espantava os morcegos como um sinal de fumaçapara chamá-lo. À medida que as semanas transcorriam, eles habituaram-se a mim e eram precisas duas ou três pedras bem miradas contra o teto para fazê-los sair; mas depois de algum tempo isso se tornou desnecessário; a gente do palácio acostumou-se às minhas ausências, e parou de indagar, e foi possível combinar encontros com Galapas de um dia para o outro.
Moravik deixara-me cada vez mais segviir meu próprio caminho, já que o bebé de Olwen nascera em fins de maio e, quando o filho de Camlach chegou, em setembro, ela se fixou nos aposentos dos bebés reais como a governanta oficial, abandonando-me tão subitamente quanto um pássaro abandona o ninho. Via minha mãe cada vez menos e ela parecia satisfeita em passar o tempo com suas aias, de modo que fiquei entregue a Demetrius e a Cerdic. Demetrius tinha razões próprias para apreciar um dia livre de quando em quando e Cerdic era meu amigo. Desencilhava o pônei enlameado e suarento sem perguntas ou com uma piscadela e um comentário lascivo a propósito de onde eu estivera, à guisa de piada, e como tal era tomado. Tinha o meu quarto só para mim agora, exceto pelo cão-lobo; ele passava as noites comigo em atenção aos velhos tempos, mas se representava alguma segurança não faço ideia. Suspeito que não; eu estava bastante seguro. O país gozava de paz, salvo pelos perenes rumores de uma invasão da Bretanha Menor. Camlach e o pai estavam de acordo; segundo todas as aparências, eu caminhava voluntária e rapidamente para a prisão do sacerdócio e assim, quando as lições com Demetrius foram oficialmente terminadas, fiquei livre para andar por onde me aprouvesse.
Nunca mais vi ninguém no vale. O pastor só morava lá no verão, num casebre miserável abaixo da floresta. Não havia outras habitações ali, e para além da gruta de Galapas a trilha era usada apenas pelas ovelhas e veados. Não levava a parte alguma.
Ele era um bom mestre e eu rápido, mas na verdade mal considerava o tempo que passava com ele como uma lição. Deixamos as línguas e a geometria com Demetrius e a religião com os padres de minha mãe; com Galapas, de início, era apenas como escutar um contador de histórias. Ele viajara, quando jovem, pelo outro lado do mundo, Etiópia, Grécia, Alemanha e em torno do Mediterrâneo, e vira e aprendera coisas estranhas. Ensinou-me coisas práticas também: como colher ervas e secá-las para guardar, como empregá-las em remédios, e como destilar determinadas drogas sutis, e mesmo venenos. Fez-me estudar os animais selvagens e os pássaros e — com as aves e ovelhas mortas que encontrávamos nas montanhas, e certa vez com um veado morto — estudei os órgãos e os ossos do corpo. Ensinou-me a estancar uma hemorragia, a emendar um osso quebrado, a cortar a carne ferida e limpá-la para que sarasse sem infeccionar, e mesmo — embora isso tivesse vindo mais tarde — a unir carne e músculos no lugar com uma linha enquanto o animal está atordoado com vapores. Lembro-me de que o primeiro encantamento que me ensinou foi o feitiço das verrugas. É tão fácil que até uma mulher pode fazer.
Certo dia, tirou um livro da caixa e desenrolou-o.
— Você sabe o que é isso?
Eu estava acostumado a diagramas e desenhos, mas aquilo não era um desenho de nada que eu pudesse reconhecer. O texto estava em latim e vi as palavras Etiópia e, fora, a um canto, Bretanha. As linhas pareciam estar rabiscadas por toda a parte e na figura havia linhas de nível desenhadas parecendo um campo escavado por toupeiras.
— Estas aqui, são montanhas?
— São.
— Então é um mapa do mundo?
— Um mapa.
Eu nunca vira um mapa antes. A princípio não consegui compreender como funcionava, mas em pouco tempo, à medida que ele explicava, vi como o mundo se espraiava ali como um pássaro o vê, com estradas e rios como círculos numa teia de aranha, ou as linhas-mestras que conduzem uma abelha a uma flor. Como um homem uue encontra um curso dágua conhecido e o segue através da charneca, assim, com um mapa, é possível cavalgar de Roma a Massília, ou de Londres a Caerleon, sem perguntar uma só vez a direção ou procurar marcos no caminho. Esta arte foi descoberta pelo grego Anaximandro, embora alguns digam que os egípcios já a conheciam. O mapa que Galapas me mostrou era uma cópia de um livro de Ptolomeu de Alexandria. Depois de ter-me explicado e estudado o mapa comigo, ele mandou que eu apanhasse uma tábua e sozinho fizesse um mapa do meu próprio país.
Quando terminei, ele o examinou.
— Isto no centro o que é?
— Maridunum — disse eu, surpreso. — Veja, aí está a ponte e o rio, e esta é a estrada que passa pelo mercado, e os portões do aquartelamento estão aqui.
— Estou vendo isso. Eu não falei da sua cidade, Merlin, mas sim do seu país.
— O País de Gales todo? Como posso saber o que existe ao norte das montanhas? Nunca fui mais longe que isso.
— Vou-lhe mostrar.
Ele pôs a tábua de lado e, apanhando uma varinha pontuda, começou a desenhar na areia, explicando à medida que desenhava. O que desenhou para mim foi um mapa do formato de um grande triângulo, não apenas de Gales, mas da Bretanha toda, até mesmo das terras selvagens para além da muralha onde vivem os bárbaros. Mostrou-me montanhas, estradas e cidades, Londres, Calleva e os densos aglomerados ao sul, até as cidades e fortalezas nos extremos da teia de estradas, Segontium, Caerleon e Eboracum e as povoações ao longo da própria muralha. Falava como se fossem todas um só país, embora eu pudesse ter enumerado para ele os nomes dos reis de uma dúzia dos lugares mencionados. Só me lembro disso pelos acontecimentos que sobrevieram.
Logo depois, quando o inverno chegou e as estrelas apareciam mais cedo, ele ensinou-me seus nomes e seus poderes e como um homem podia mapeá-las do mesmo modo que fazia com as estradas e cidades. Elas produziam música, disse-me ele, ao se moverem. Ele próprio não sabia música, mas quando descobriu que Olwen havia-me ensinado, ajudou-me a construir uma harpa. Era um instrumento bastante tosco, suponho eu, e pequeno, feito de chifre, a curvatura e a coluna em salgueiro do Tywy e encordoada com fios de cabelo da cauda do meu pônei, enquanto que a harpa de um príncipe (disse Galapas) deveria ser encordoada com fios de ouro e prata. Mas eu fiz a base das cordas com moedas de cobre vazadas, o pedal e as cravelhas de osso polido, esculpi um falcão na caixa acústica e considerei-o um instrumento melhor que o de Olwen. Na verdade, era tão fiel quanto o dela, produzindo uma espécie de som doce e sussurrante que parecia arrancar a música do próprio éter. Guardei-a na gruta; embora Dinias me deixasse em paz nesses dias, por ser um guerreiro, enquanto eu não passava de um clérigo parasita, não guardaria nada que prezasse no palácio a não ser que pudesse trancá-lo na minha arca de roupa, e a harpa era muito grande para isso. Em casa, como música, eu possuía os pássaros da pereira e Olwen ainda cantava de vez em quando. E quando os pássaros emudeciam, e o céu da noite pontilhava de luz, eu procurava escutar a música das estrelas. Mas nunca consegui ouvi-la.
Então, certo dia, quando eu estava com doze anos, Galapas falou da gruta de cristal.
É fato sabido que, em se tratando de crianças, as coisas mais importantes passam, freqüentemente, sem menção. É como se a criança reconhecesse por instinto aquilo que é grande demais para ela e o guardasse na mente, alimentando-o com sua imaginação até assumir proporções tão extensas ou grotescas que possa ser tomado, igualmente, por mágica ou pesadelo.
Assim foi com a gruta de cristal.
Nunca mencionei a Galapas minha primeira experiência ali. Mesmo para mim próprio, eu dificilmente admitia o que me ocorria às vezes com a luz e o som; sonhos, dizia a mim mesmo, memórias de uma sub-memória, produtos da minha mente apenas, como a voz que me contara a respeito de Gorlan ou a visão do veneno no damasco. E quando descobri que Galapas nunca mencionava a gruta interior, e que o espelho era mantido coberto sempre que eu estava presente, calei-me.
Fui vê-lo num dia de inverno em que a geada fazia o chão faiscar e retinir e meu pônei soprava vapor como um dragão. Ele seguia veloz, agitando a cabeça e repuxando um pouco o freio e abriu num galope assim que saí da floresta e entrei no vale alto. Com o tempo eu me tornara muito crescido para o manso pônei creme da minha infância, mas orgulhava-me do meu cinzento, galés, que chamei de Aster. Há uma raça de pônei montanhês no País de Gales, robusta, veloz e muito bonita, com a cabeça delicada e estreita, orelhas pequenas e o pescoço bem arqueado. Correm selvagens nas montanhas e em tempos remotos se misturaram aos cavalos que os romanos trouxeram do Oriente. Aster tinha sido laçado e domado por meu primo Dinias, que o montara por uns dois anos e então 0 descartara por um verdadeiro cavalo de guerra. Achei-o difícil de lidar, os modos bruscos e a boca arruinada, mas o seu passo era de seda comparado aos sacolejões a que eu estava habituado, e uma vez perdido o medo de mim tornou-se carinhoso.
Eu já tinha há muito idealizado um abrigo para o meu pônei para quando fosse até lá no inverno. A moita de espinheiros crescia de encontro ao rochedo sob a gruta e no seu recôncavo, na parte mais espessa, Galapas e eu tínhamos carregado pedras para formar um cercado cuja parede do fundo era o próprio rochedo. Depois que pusemos galhos secos contra as paredes e o topo, e forrado com algumas braçadas de samambaias, oCercado tornou-se não só um abrigo sólido e quente mas invisível aos olhos de quem passasse. A necessidade de segredo era outra das coisas que nunca discutíramos abertamente; eu compreendia, sem que me fosse dito, que Galapas de alguma forma me ajudava a contrariar os planos de Camlach para mim. Assim — embora à medida que o tempo passasse eu fosse deixado mais totalmente entregue aos meus próprios planos — tomava todas as precauções para evitar ser descoberto, encontrando meia dúzia de caminhos diferentes para me aproximar do vale, e uma vintena de histórias para justificar o tempo que passava lá.
Levei Aster para o cercado, retirei a sela e os arreios, pendurei-os, atirei no chão um pouco de ferragem de uma mochila, barrei a entrada com um galho forte e caminhei rapidamente para a gruta.
Galapas não estava lá, mas que tinha saído há pouco tempo era atestado pelo fato de que o braseiro no interior da gruta, junto à entrada, tinha sido abafado, vendo-se apenas uma pequena chama. Aticei-o até que as chamas crescessem e sentei-me ao lado com um livro. Não havia combinado vir, mas dispunha de bastante vagar e, deixando os morcegos sossegados, li tranqüilamente por algum tempo.
Não sei o que me fez, naquele dia dentre todos os outros que ali estivera sozinho, pôr subitamente o livro de lado e encaminhar-me para além do espelho velado para examinar a brecha pela qual havia fugido cinco anos antes. Dizia a mim mesmo que estava apenas curioso em verificar se era realmente como me lembrava, ou se os cristais, como as visões, eram produto da minha imaginação; qualquer que fosse a razão, trepei rapidamente para o degrau, e acocorado junto à brecha pus-me a espreitar.
A gruta interior estava silenciosa e escura, sem nenhum brilho de chamas a iluminá-la. Arrastei-me para diante com cautela até que minhas mãos encontraram os cristais pontiagudos. Eram muito reais. Mesmo agora, sem admitir para mim mesmo por que me apressava, com um olho na boca da gruta principal e o ouvido apurado para a volta de Galapas, escorreguei pela beirada, apanhei a jaqueta de couro de montaria que despira e, correndo de volta, atirei-a à minha frente pela brecha. Então engatinhei atrás dela.
Com a jaqueta de couro esticada no chão, o globo era relativamente confortável. Fiquei imóvel. O silêncio era completo. À medida que meus olhos se acostumavam à escuridão, pude perceber um brilho débil e cinzento nos cristais, mas da mágica que a luz produzira não havia sinal.
Deveria haver alguma brecha aberta para o exterior, porque mesmonaquele canto escuro havia uma ligeira corrente, o filete frio de uma corrente de ar. E com ele vinha o som pelo qual eu esperara, vinham os passos de alguém que se aproximava por sobre o rochedo gelado...
Quando Galapas entrou na gruta alguns minutos mais tarde, eu estava sentado ao pé do fogo, minha jaqueta enrolada de um lado, mergulhado no livro.
Meia hora antes do crepúsculo, pusemos os livros de parte. Mas, ainda assim, eu não fiz menção de sair. O fogo brilhava agora, enchendo a gruta de calor e luz trêmula. Ficamos um momento sentados em silêncio.
— Galapas, há uma coisa que quero perguntar-lhe.
— Sim?
— Lembra-se do primeiro dia que vim aqui?
— Muito claramente.
— Você sabia que eu viria. Estava à minha espera?
— Eu lhe disse isso?
— Você sabe que disse. Como soube que eu viria aqui?
— Vi na gruta de cristal.
— Oh, isso? Você moveu o espelho para que a luz da vela me apanhasse e viu minha sombra. Mas não era isso que estava perguntando. E sim como soube que eu ia subir o vale naquele dia?
— Foi essa a pergunta a que respondi, Merlin. Eu sabia que você ia subir o vale naquele dia, porque, antes de você chegar, eu o vi na gruta.
Fitamo-nos em silêncio. As chamas luziam e sussurravam entre nós, encolhidas pela fraca corrente que levava a fumaça para fora da gruta. Não creio que tenha respondido de pronto, apenas assenti. Era uma coisa que já sabia. Passados uns instantes, pedi-lhe com simplicidade:
— Quer-me mostrar?
Ele encarou-me por um momento e pôs-se de pé.
— Já é tempo. Acenda a vela.
Obedeci. A pequenina chama tornou-se dourada, alcançando as sombras projetadas pela luz trêmula do braseiro.
— Tire o tapete do espelho.
Puxei-o e ele caiu-me nos braços formando um monte de lã. Atirei-o na cama junto à parede.
— Agora suba para o degrau e deite-se.
— No degrau?
— É. Deite-se de bruços, com a cabeça na direção da brecha, para que possa ver o interior.
— Não quer que entre de uma vez?
— E leve sua jaqueta para deitar-se sobre ela?
Eu já estava a meio caminho do degrau. Voltei-me e vi-o sorrindo.
— Não adianta, Galapas, você sabe tudo.
— Algum dia você chegará aonde nem com a vidência poderei segui-lo. Agora deite-se imóvel e observe.
Deitei-me no degrau. Era largo e plano e me mantinha bastante confortavelmente de bruços, a cabeça nos braços dobrados, voltada para a entrada.
Abaixo, Galapas disse baixinho:
— Não pense em nada. Tenho as rédeas nas mãos; isto não é para você, ainda. Apenas observe.
Ouvi-o recuar, atravessando a gruta, na direção do espelho.
A gruta era muito maior do que eu imaginara. Alongava-se para o alto, mais alto do que eu conseguia enxergar e o chão desgastara-se até tornar-se liso. Eu estivera enganado até a respeito dos cristais; o brilho que refletia a tocha vinha apenas das poças no chão, e de um ponto numa das paredes onde uma fina camada de umidade denunciava uma mina em algum lugar no alto.
As tochas, metidas em fendas na parede da caverna, eram ordinárias, de chifres rachados e enchidos de trapos — o refugo das oficinas. Queimavam mortiças no ar viciado. Embora o lugar fosse frio, os homens trabalhavam nus exceto pelas tangas e o suor escorria-lhes pelas costas enquanto talhavam a face da rocha, em golpes firmes e contínuos, que não produziam ruído, mas podiam-se ver os músculos contraírem-se e distenderem-se no suor iluminado pelos archotes. Sob uma protuberância da altura dos joelhos na base da parede, deitados de costas numa poça de água infiltrada, dois homens martelavam para o alto, em golpes curtos e sofridos, a rocha a centímetros dos seus rostos. No pulso de um deles vi a ruga brilhante de uma cicatriz antiga.
Um dos pedreiros curvou-se para a frente, tossindo, e com um olhar de esguelha sufocou a tosse e voltou ao trabalho. A luz da gruta tornou-se mais intensa através de uma abertura quadrada como um portal, que dava para um túnel curvo de onde vinha uma nova tocha, uma tocha melhor.
Quatro rapazes surgiram, imundos de poeira e nus como os outros, carregando cestas fundas, e atrás deles um homem com uma túnica marrom manchada e úmida. Trazia a tocha numa mão e na outra uma tabuinha que parou para estudar franzindo o cenho, enquanto os rapazes corriam com as cestas para a face da rocha e começavam a enchê-las com pás de pedras caídas. Passado algum tempo, o capataz adiantou-se para a face da rocha e estudou-a levantando a tocha mais alto. Os homens recuaram, parecendo agradecidos pela trégua, e um deles dirigiu-se ao capataz, apontando primeiro para o trabalho e a seguir para a umidade que se infiltrava na parte mais afastada da gruta.
Os rapazes tinham enchido as cestas completamente e as haviam arrastado para longe da face. O capataz, num encolher de ombros, sorrindo, tirou uma moeda de prata da bolsa e, com um piparote de jogador experiente, atirou-a ao ar. Os trabalhadores espicharam o pescoço para vê-lo. Então o homem que falara tornou a voltar-se para a face e golpeou-a com a picareta.
A fenda alargou-se, e a poeira caiu empanando a luz. Em seguida à poeira, veio a água.
— Beba isto — disse Galapas.
— O que é?
— Uma das minhas beberagens, não é das suas; não tem perigo. Beba-a.
— Obrigado, Galapas, a gruta é de cristal ainda. Sonhei que era diferente.
— Não pense nisso agora. Como se sente?
— Esquisito... Não sei explicar. Sinto-me bem, apenas uma dor de cabeça, mas... vazio como uma concha sem o caramujo. Não, como um junco ao qual arrancaram a medula.
— Um assovio no vento. Sim. Venha até o braseiro. Quando sentei no meu lugar com um caneco de vinho aquecido nas mãos, ele indagou:
— Onde esteve?
Contei-lhe o que vira, mas quando comecei a perguntar o que significava e o quanto sabia, ele sacudiu a cabeça.
— Acho que isso já está além de mim. Não sei. Só o que sei é que você precisa terminar esse vinho depressa e ir para casa. Tem idéia de quanto tempo ficou ali sonhando? A lua já nasceu.
Pus-me de pé, assustado.
— Já? Devo ter passado de muito a hora da ceia. Se estiverem à minha procura...
— Não estarão à sua procura. Outras coisas estão acontecendo. Vá e veja por si mesmo — e assegure-se de tomar parte nelas.
— O que quer dizer?
— Só o que disse. Quaisquer que sejam os meios que precise empregar, vá com o Rei. Olhe, não se esqueça disto. — E atirou-me a jaqueta nos braços.
Apanhei-a às cegas, encarando-o.
— Ele vai sair de Maridunum?
— Vai. Apenas por algum tempo. Não sei quanto tempo.
— Ele nunca me levará.
— Isso depende de você. Os deuses só o acompanham, Myrddin Emrys, se você se puser no caminho deles. E isso requer coragem. Vista a jaqueta antes de sair, está frio.
< Meti o braço na manga, aborrecido.
— Você viu tudo isso, coisas que estão realmente acontecendo e eu... eu estava olhando para os cristais com o fogo, e aqui estou com uma bruta dor de cabeça, à toa... um sonho idiota de escravos numa mina velha. Galapas, quando é que você me vai ensinar a ver como você?
— Para começar, posso ver os lobos a devorá-lo e ao Aster, se você não se apressar.
Ele ria consigo mesmo, como se tivesse dito algo muito engraçado, enquanto eu corria para fora da gruta e descia para encilhar meu pônei.
A lua estava no minguante e iluminava apenas o suficiente para deixar entrever o caminho. O pônei saltitava para aquecer o sangue, e repuxava, com mais força que nunca, as orelhas empinadas na direção de casa, farejando a ceia. Tive que lutar para segurá-lo, porque a trilha estava gelada e eu receava cair, mas confesso que com o último comentário de Galapas a ecoar-me desconfortavelmente na cabeça, deixei-o descer o morro, por entre as árvores, demasiado rápido para minha segurança, até alcançarmos o moinho e o nivelamento da trilha de reboque.
Ali já era possível ver com clareza. Meti os calcanhares no pônei, fazendo-o galopar o resto do caminho.
Assim que chegamos à vista da cidade, percebi que algo acontecia. A trilha de reboque estava deserta — os portões da cidade já deviam ter sido trancados há muito — mas a cidade estava coalhadas de luzes. No interior das muralhas, as tochas pareciam arder por toda a parte e havia gritos e correrias. Deixei-me escorregar da sela, junto ao portão dos estábulos, inteiramente preparado para encontrá-lo fechado, mas ao estender o braço para experimentá-lo, o portão abriu-se, e Cerdic, com uma lanterna na mão, fez-me sinal que entrasse.
— Ouvi-o chegar. Estive à escuta desde o entardecer. Onde andava o grande amoroso? Ela devia estar ótima esta noite.
— Oh, estava mesmo. Perguntaram por mim? Deram pela minha ausência?
— Não que eu saiba. Têm mais com que se ocupar esta noite. Dê-me as rédeas, vamos deixá-lo no celeiro, por ora. Há muito movimento no estábulo maior.
— Por quê? O que está acontecendo? Ouvi o barulho a uma milha de distância. Há alguma guerra?
— Não, o que é uma pena, embora possa acabar nisso. Chegou uma mensagem esta tarde, dizendo que o Suserano vai a Segontium para ficar lá uma semana ou duas. Seu avô partirá para lá amanhã, por isso tudo deverá ficar pronto com muita urgência.
— Compreendo. — Segui-o até o celeiro e observei-o desencilhar o pônei, puxando mecanicamente uma palha do monte e torcendo um facho para ele. — O rei Vortigern em Segontium? Por quê?
— Contando as cabeças, dizem. — Riu com desdém ao começar a limpar o pônei.
— Você quer dizer, chamando os aliados? Então há rumores de guerra?
— Sempre haverá rumores de guerra, enquanto Ambrosius estiver instalado na Bretanha Menor com o rei Budec às suas costas, e os homens se lembrarem de coisas que mais vale não mencionar.
Assenti. Não consegui lembrar-me exatamente de quando me haviam contado, já que ninguém comentava isso alto, mas todos sabiam como o Suserano se apossara do trono. Fora ele o regente do jovem rei Constantius, que morrera de repente. Os irmãos mais novos do Rei não quiseram esperar que se provasse se os boatos de assassinato seriam falsos ou verdadeiros; fugiram para a corte do primo Budec, na Bretanha Menor, deixando o reino para o Lobo e seus filhos. Quase todo ano os rumores ressurgiam; que o rei Budec estava armando os dois jovens príncipes; que Ambrosius partira para Roma; que Uther era um mercenário a serviço do Imperador do Oriente ou que se casara com a filha do rei da Pérsia; que os dois irmãos tinham um exército de quatrocentos mil homens e iam invadir e queimar a Bretanha Maior de uma ponta à outra; ou que viriam em paz, como arcanjos, e expulsariam os saxões das costas orientais, sem luta. Entretanto, mais de vinte anos se haviam passado e a coisa não se concretizara. A vinda de Ambrosius era comentada agora como se já tivesse ocorrido e se houvesse transformado em lenda, assim como os homens falavam da vinda de Brutus e dos troianos, quatro gerações após a queda de Tróia, ou da viagem de Joseph a Thorny Hill, perto do Avalon; ou ainda da segunda vinda de Cristo — embora tendo eu, certa vez, dito isso à minha mãe, ela ficasse tão zangada que eu jamais tentei repetir o gracejo.
— Oh, sei — disse eu. — Ambrosius aproxima-se outra vez, não é? Sério, Cerdic, por que é que o Rei está vindo para o Norte de Gales?
— Já lhe disse — respondeu Cerdic. — Passando revista, aliciando apoio antes da primavera, ele e sua rainha saxônica — e, dizendo isto, cuspiu no chão.
— Por que faz isso? Você também é saxão.
— Isso foi há muito tempo. Vivo aqui agora. Não foi aquela cadela loura que fez com que Vortigern se vendesse, para começar?
Ou de qualquer forma, e você sabe tão bem quanto eu, desde que ela anda na cama do Suserano, os vikings correm à solta pela terra como o fogo no capim seco, até que ele já não consegue combatê-los nem suborná-los. E se ela for o que os homens dizem que é, pode ter certeza de que nenhum dos filhos verdadeiros do Rei viverá para usar a coroa. — Ele falava baixinho, mas ao dizer isso olhou para o lado e cuspiu outra vez, fazendo o sinal. — Bem, você sabe disso tudo — ou deveria saber, isto é, se escutasse os mais velhos com mais freqüência, em vez de passar o tempo nos livros e coisas desse tipo, ou andar correndo atrás daquela gente das montanhas ocas.
— É lá que você pensa que eu vou?
— É o que dizem. Não estou perguntando nada. Não quero saber. Levante-se, vamos — disse ao pônei, dando uma volta e asso-viando, para começar a trabalhar no outro flanco. — Há rumores de que os saxões desembarcaram outra vez ao norte de Rutupiae, e estão pedindo demais desta vez até mesmo para um Vortigern engolir. Ele terá que lutar, vindo a primavera.
— E o meu avô com ele?
— É isso que espera, aposto. Bem, é melhor ir correndo se quiser jantar. Ninguém reparará em você. Parecia que o inferno tinha irrompido nas cozinhas, quando tentei arranjar alguma coisa para comer, há uma hora atrás.
— Onde se encontra meu avô?
— Como posso saber? — Inclinou a cabeça para o meu lado, por cima do traseiro do pônei. — Ora, a que propósito vem isso?
— Quero ir com eles.
— Hah! — exclamou ele, atirando a forragem cortada para o pônei. Não era um som muito encorajante.
Continuei obstinado:
— Tenho vontade de ver Segontium.
— Quem não tem? Até eu tenho vontade de vê-la. Mas, se você está pensando em pedir ao Rei... — deixou a frase suspensa. — Não que não seja tempo de você sair daqui e ver alguma coisa, descontraindo-se um pouco. É do que precisa, embora eu não possa dizer que veja isso acontecer. Você nunca irá falar com o Rei.
— Por que não? O máximo que ele poderá fazer é recusar.
— O máximo que poderá fazer? Ora, bolas, ouçam o menino! Tome um conselho, jante e vá dormir. E não experimente com Camlach, tampouco. Teve uma briga dos diabos com a mulher e parece um arminho com dor de dentes. Você não pode estar falando sério.
— Os deuses só o acompanham, Cerdic, se você se puser no caminho deles.
— Sim, está bem, mas alguns deles têm os cascos um bocado grandes para pisoteá-lo. Quer um funeral cristão?
— Não faço realmente questão. Suponho que vou acabar recebendo um batismo cristão dentro em breve, se o bispo conseguir o que deseja, mas até lá ainda não me alistei oficialmente com ninguém.
Ele riu.
— Espero que me queimem quando a minha vez chegar. É a maneira mais limpa de partir. Bem, se não quer escutar, então não escute, mas não vá enfrentá-lo de estômago vazio, é só.
— Isso eu lhe prometo — disse eu e fui arranjar comida. Depois de ter comido e trocado a túnica por outra mais decente, fui procurar meu avô.
Para meu alívio, Camlach não estava com ele. O Rei encontrava-se na sua alcova, esparramado numa cadeira, à vontade, diante de uma tora em chamas, os dois cães adormecidos a seus pés. A princípio, pensei que a mulher na cadeira de espaldar alto do outro lado da lareira fosse Olwen, a Rainha, mas depois vi que era minha mãe. Estivera a coser, tinha as mãos pousadas no regaço e um pano branco caído sobre o vestido marrom. Ela voltou-se sorrindo para mim, mas seu olhar era de surpresa. Um dos cães bateu com a cauda no assoalho e o outro entreabriu um olho, girou-o e fechou-o novamente. Meu avô encarou-me com o cenho franzido, mas disse com razoável gentileza:
— Bem, menino, não fique aí de pé. Entre, entre, há aqui uma maldita corrente de ar. Feche a porta.
Obedeci e aproximei-me do fogo.
— Posso vê-lo, senhor?
— Você já me está vendo. O que quer? Apanhe um banquinho e sente-se.
Havia um junto à cadeira de minha mãe. Afastei-o para mostrar que não me ia sentar à sua sombra e acomodei-me entre os dois.
— Bem? Não o vejo há muito tempo, não é? Tem-se ocupado com seus livros?
— Sim, senhor. — Em princípio, é melhor atacar do que defender, portanto fui direto ao assunto. — Eu... tive uma folga esta tarde e saí a cavalo, de modo que eu...
— Para onde?
— Ao longo da trilha do rio. Nenhum lugar em especial, apenas para melhorar minha equitação, assim...
— Bem que precisa.
_ Sim, senhor. De modo que perdi o mensageiro. Disseram-me que o senhor parte amanhã.
_ O que tem isso a ver com você?
— Só que eu gostaria de acompanhá-lo.
— Você gostaria? Você gostaria? O que é isso de repente?
Uma dúzia de respostas, todas soando igualmente bem, atropelaram-se na minha cabeça, buscando expressão. Pensei ter visto minha mãe contemplar-me penalizada e sabia que meu avô esperava com indiferença e impaciência levemente tingidas pelo divertimento. Disse-lhe a verdade:
— Porque estou com mais de doze anos e nunca sai de Maridunum, e sei que, se meu tio conseguir o que deseja, em breve estarei fechado neste vale, ou noutro lugar qualquer, estudando para padre. E antes que isso aconteça...
As sobrancelhas aterradoras contraíram-se.
— Está tentando dizer-me que não quer estudar?
— Não. Isso é o que mais quero no mundo. Mas o estudo tem mais significação quando se viu ao menos um pouquinho do mundo... na verdade é assim, senhor. Se permitir que o acompanhe...
— Vou a Segontium, disseram-lhe isso? Não é uma caçada de dia de festa, é uma cavalgada longa e dura, sem tréguas para maus cavaleiros.
Manter os olhos nivelados com aqueles olhos azuis apavorantes foi como levantar um grande peso.
— Estive praticando, senhor, e tenho um bom pônei, agora.
— Hum, sim, o descarte de Dinias. Bem, essa é a sua medida. Não, Merlin, não levo crianças.
— Então vai deixar Dinias para trás?
Ouvi minha mãe ofegar e a cabeça de meu avô, já desviada, voltou-se para mim. Vi suas mãos fecharem-se nos braços da cadeira, mas ele não me bateu.
— Dinias é um homem.
— Então, Mael e Duach vão com o senhor? — Eram dois pajens, mais jovens que eu, que o acompanhavam para toda parte.
Minha mãe começou a falar precipitada e ofegante, mas meu avô acenou fazendo-a parar. Havia uma expressão imponente nos olhos ferozes sob o cenho franzido.
— Mael e Duach são úteis a mim. Que utilidade tem você? Encarei-o.
— Até agora muito pouca. Mas não lhe disseram que eu falo saxão tão bem quanto galês, que sei ler grego e que o meu latim é melhor do que o seu?
— Merlin... — começou minha mãe, mas eu a ignorei.
— Eu poderia acrescentar bretão e córnico, mas duvido que precise dessas línguas em Segontium.
— E pode dar-me uma boa razão — disse meu avô secamente — por que eu deveria falar ao rei Vortingern em qualquer outra língua que não o galês, visto que nasceu em Guent?
Pelo tom dele fiquei sabendo que eu vencera. Deixar o meu olhar desviar-se do dele era como bater em retirada, aliviado, de um campo de batalha. Tomei fôlego e respondi muito humilde:
— Não, senhor.
Ele soltou uma grande gargalhada e esticou o pé para arredar dali um dos cães.
— Bem, talvez haja alguma coisa da família em você, afinal de contas, apesar do seu aspecto. Pelo menos, você tem coragem de enfrentar o velho leão no covil, quando lhe convém. Muito bem, pode vir. Quem vai servi-lo?
— Cerdic.
— O saxão? Diga-lhe para arrumar suas coisas. Partiremos à primeira claridade do dia. Bem, o que está esperando?
— Dizer boa noite à minha mãe.
Levantei-me do banquinho e beijei-a. Eu não fazia isso com freqüência e ela pareceu surpresa.
Às minhas costas, meu avô disse, áspero:
— Você não vai para a guerra. Estará de volta dentro de três semanas. Saia.
— Sim, senhor. Muito obrigado. Boa noite.
Do lado de fora da porta fiquei parado bem meio minuto, encostado à parede, enquanto meu pulso voltava lentamente ao normal e a náusea desaparecia-me da garganta. Os deuses só o acompanham se você se coloca no caminho deles, e para isso é preciso coragem.
Engoli a náusea, enxuguei o suor das palmas das mãos e corri à procura de Cerdic.
Foi assim que deixei Maridunum pela primeira vez. Naquela época, pareceu-me a maior aventura do mundo, sair na triagem da madrugada, as estrelas ainda no céu, fazendo parte de um grupo de homens camaradas, que se atropelavam numa arrancada, para escoltar Camlach e o Rei. De início, a maioria dos homens parecia mal-humorada e sonolenta e cavalgávamos quase em silêncio, o hálito produzindo fumaça no ar gelado e os cascos dos cavalos arrancando faíscas da estrada pedregosa. Até o retinir dos arreios era frio. Eu estava tão entorpecido que mal sentia as rédeas e não conseguia concentrar-me em ma is nada, exceto em manter-me no lombo do pônei excitado, para não ser mandado de volta para casa em desgraça, antes de termos percorrido a primeira milha.
E agora, visto que as histórias da infância são tediosas e ainda há fatos importantes a serem narrados, vou repassar, tão rapidamente quanto possível, a nossa excursão a Segontium, a qual durou dezoito dias. Era minha primeira visão do rei Vortigern, que naquela altura era o Suserano da Bretanha há mais de vinte anos. Estejam certos de que muito ouvi falar dele, verdades e lendas igualmente. Era um homem duro, como deve ser alguém que se tenha apoderado do trono pelo assassinato e o mantenha com sangue; mas era um rei forte numa época em que havia necessidade de força e não se podia culpá-lo de todo pelo fato de que o estratagema de aliciar saxões como mercenários se tivesse transformado num desastre, como uma espada afiada que nos escorregasse da mão e nos cortasse até o osso. Ele pagara, e tornara a pagar, e afinal lutara; e agora passava grande parte do ano lutando como um leão para manter as hordas errantes nos limites da costa saxônica. Os homens referiam-se a ele com respeito, como um tirano feroz e sanguinário, e à sua rainha saxônica, Rowena, com ódio, considerando-a uma bruxa; mas, embora eu tivesse sido alimentado na infância com as histórias dos escravos das cozinhas, ansiava por vê-los, com mais curiosidade do que medo.
De qualquer modo, não havia necessidade de temê-lo; só vi o Suserano a uma certa distância. A indulgência do meu avô estendera-se apenas a deixar-me acompanhar sua comitiva; uma vez lá, eu não contava, e na realidade contava menos que seus pajens Mael e Duach. Deixaram-me que me arranjasse sozinho entre a turba anônima de meninos e criados, e porque meus modos não tivessem conquistado amigos entre os meus contemporâneos fui deixado em paz. Mais tarde, eu deveria agradecer o fato de que nas poucas ocasiões em que estive no aglomerado que cercava os dois reis, Vortigern não tivesse pousado os olhos em mim e nem meu avô ou Camlach se lembrassem da minha existência.
Permanecemos uma semana em Segontium, que os galeses chamam de Caer-yn-ar-Von, por situar-se exatamente no estreito de Mona, a ilha dos druidas. A cidade, como Maridunum, encontra-se engastada nos bancos do estuário onde o rio Seint deságua no mar. Possui um porto esplêndido e uma fortaleza colocada no terreno elevado sobre o porto, talvez a meia milha de distância. A fortaleza foi construída pelos romanos para proteger o porto e a cidade, mas esteve abandonada mais de cem anos até que Vortigern mandou repará-la em parte. Um pouco mais abaixo, na encosta da montanha, havia um outro ponto fortificado, construído mais recentemente por Macsen, creio eu, avô do Constantius assassinado, contra os invasores irlandeses.
O país aqui era mais grandioso que Gales do Sul, mas aos meus olhos mais agreste que belo. Talvez no verão a terra fosse verde e suave ao longo do estuário, mas quando a vi pela primeira vez as montanhas erguiam-se por trás da cidade como nuvens de tempestade, as faldas cinzentas apresentavam florestas nuas e sibilantes, e seus cumes de um azul acinzentado cobriam-se de neve. Ao fundo, sobrepondo-se a todas as elevações, o grande pico coberto de nuvens do Moel-y-Wyddfa, que hoje em dia os saxões denominam Snowhill ou Snowdon. É a montanha mais alta de toda a Grã-Bretanha, a morada dos deuses.
Vortigern instalou-se, com fantasmas ou sem eles, na Torre de Macsen. Seu exército — ele nunca saía nesses dias com menos de mil homens armados — estava alojado no forte. Quanto à comitiva de meu avô, os nobres faziam companhia ao Rei na torre, e o séquito, ao qual me incorporava, estava abrigado bastante confortavelmente, embora que um tanto gelado, junto ao portão oeste do forte. Éramos tratados com todas as honras; não somente Vortigern era um parente distante do meu avô, como parecia ser verdadeiro que o Suserano estivesse — no dizer de Cerdic — "aliciando apoio". Era um homem corpulento e moreno, de rosto largo e carnudo, e cabelos espessos, eriçados como os de um porco selvagem, que se tornavam grisalhos. Possuía pêlos negros nas costas das mãos e nas narinas. A Rainha não viera; Cerdic segredou-me que ele não ousara trazê-la já que os saxões eram tão pouco bem-vindos. Quando retruquei que ele próprio só era bem-vindo porque esquecera seus hábitos saxões e tornara-se um bom galês, Cerdic riu dando-me um sopapo na orelha. Suponho que não era minha culpa que eu não fosse muito da realeza.
O programa dos nossos dias era simples. A maior parte do dia era gasto em caçadas e ao entardecer voltávamos para os fogos, a bebida e uma refeição completa; então o Rei e seus conselheiros entretinham-se a conversar e seus acompanhantes a jogar, namorar, brigar ou quaisquer outros esportes que preferissem.
Eu nunca caçara antes; como esporte, era estranho à minha natureza e aqui todos cavalgavam num tumulto que eu detestava. Era também perigoso: havia muita caça no sopé das montanhas e os homens arrancavam em disparada com os pescoços à venda; mas não vi nenhuma outra oportunidade de conhecer o país e além do mais precisava descobrir por que Galapas insistira em que eu viesse a Segontium. Assim, eu saía todos os dias. Dei algumas quedas, que resultaram apenas em arranhões e consegui não atrair atenções, boas ou más, de ninguém importante. Tampouco descobri o que estava procurando; nada vi e nada aconteceu exceto que minha equitação melhorou e junto com ela o comportamento de Aster.
No oitavo dia da nossa permanência, iniciamos a viagem de volta e o Suserano, pessoalmente, com uma comitiva de cem homens, acompanhou-nos até a nossa estrada.
A primeira parte do caminho passava por uma garganta coberta de árvores onde corria rápido e profundo um rio e onde os cavalos tinham que seguir em fila única ou dupla entre os rochedos e a água. Não havia perigo para um grupo tão numeroso, de modo que viajávamos sem pressa, a garganta a ecoar o som dos cascos, das correntes dos arreios, das vozes masculinas e do grasnido ocasional dos corvos que mergulhavam dos rochedos para nos observar. Esses pássaros não esperam, como dizem, pelo choque das batalhas; já os vi seguirem bandos armados de homens durante milhas, esperando pelo momento do embate e da matança.
Mas naquele dia seguimos a salvo, e por volta do meio-dia chegamos ao local onde o Suserano deveria separar-se de nós e voltar. Era onde os dois rios se encontravam e a garganta abria-se num vale mais amplo, com penhascos de ardósia envoltos em gelo, de cada lado, e o grande rio correndo para o sul, barrento, ganhava volume com as neves que se derretiam. Há uma passagem no encontro dos rios, e rumando para o sul uma boa estrada que segue seca e direta por terreno elevado até Tomen-y-mur.
Paramos mesmo ao norte da passagem. Os nossos líderes encaminharam-se para uma depressão abrigada e protegida em três lados por encostas densamente arborizadas. Grupos de amieiros nus e grossos juncos deixavam adivinhar que no verão a depressão deveria ser um alagadiço; naquele dia de dezembro, estava solidamente coberta de gelo, mas protegida do vento, e o sol dava para aquecer. Ali a comitiva parou para comer e descansar. Os Reis sentaram-se à parte em conversa e, próximo, o resto do séquito real. Reparei que isto incluía Dinias. Eu, como de hábito, não me considerando parte do grupo real, nem "dos soldados, tampouco dos criados, entreguei Aster a Cerdic, e afastei-me subindo um pouco por entre as árvores até um pequeno vale onde podia sentar-me sozinho e fora das vistas dos outros. Às minhas costas havia um rochedo que degelava ao sol, e do lado oposto podia-se ouvir o tinido abafado dos freios dos cavalos que pastavam, as vozes dos homens e uma gargalhada ocasional, seguidos dos silêncios e murmúrios rítmicos, que me diziam estarem os dados em jogo para passar o tempo, até que os Reis completassem suas despedidas. Um milhafre inclinou-se num mergulho acima da minha cabeça, no ar frio, refletindo ao sol o bronze das suas asas. Pensei em Galapas e no espelho de bronze piscando e perguntei-me por que eu viera.
A voz do rei Vortigern ergueu-se subitamente atrás de mim:
— Por aqui. Você poderá dizer-me o que pensa.
Voltei-me assustado antes de perceber que ele e o homem com quem falava estavam do outro lado do rochedo que me abrigava.
— Cinco milhas, dizem-me, para cada direção... — A voz do Suserano foi fugindo à medida que se afastava. Ouvi passos no chão gelado, folhas secas estalando e o rangido de botas de pregos sobre a pedra. Eles se afastavam. Ergui-me com cuidado e espreitei por cima do rochedo. Vortigern e meu avô caminhavam juntos pela floresta, absorvidos na conversa.
Lembro-me de ter hesitado. Afinal de contas, o que poderiam eles dizer que já não tivessem dito no isolamento da Torre de Macsen? Não podia acreditar que Galapas me tivesse enviado apenas como espião, à conferência. Mas por que outro motivo? Talvez o deus, no caminho de quem eu me colocara, me tivesse enviado aqui sozinho hoje para isso. Relutantemente, voltei-me para segui-los. Quando dei o primeiro passo, uma mão apanhou-me pelo braço, de forma pouco gentil.
— E aonde pensa que vai? — perguntou Cerdic, entre dentes. Sacudi-o violentamente.
— Diabos, Cerdic, você quase me faz virar pelo avesso 1 Que lhe importa aonde vou?
— Estou aqui para tomar conta de você, lembra-se?
— Só porque eu o trouxe. Ninguém o manda cuidar de mim nestes dias. Ou manda? — Olhei-o com dureza. — Esteve-me seguindo, antes?
Ele sorriu.
— Para lhe dizer a verdade, nunca me dei ao trabalho. Ou deveria ter-me dado?
Mas eu insisti.
— Alguém lhe disse para me vigiar hoje?
— Não. Mas você não viu quem veio por esse caminho? Vortigern e seu avô. Se estivesse com idéia de ir atrás deles, eu pensaria duas vezes, em seu lugar.
— Eu não ia "atrás deles" — menti. — Estava apenas passando os olhos pelos arredores.
— Então eu faria isso em outra parte. Eles enfatizaram que a comitiva deveria esperar aqui embaixo. Vim para certificar-me de que você sabia disso, é só. Frisaram isso de maneira especial.
Sentei-me outra vez.
— Muito bem, você já se assegurou. Agora deixe-me só novamente, por favor. Pode voltar para me dizer quando estivermos de partida.
— E deixar você desobedecer no minuto em que eu virar as costas?
Senti o sangue subir-me ao rosto.
— Cerdic, eu lhe disse para ir embora. Ele retrucou obstinado:
— Olhe, eu o conheço, e sei quando fica com essa cara. Não sei o que tem em mente, mas quando olha com essa expressão, vai haver encrenca para alguém e geralmente é para si próprio. O que vai fazer?
Respondi, furioso:
— A encrenca vai ser sua desta vez, se não fizer como digo.
— Não se dê ares de nobreza para cima de mim. Eu estava apenas tentando poupar-lhe uma surra.
— Sei disso. Perdoe-me. Eu... eu tinha algo em mente.
— Pode-me contar, não pode? Eu sabia que havia alguma coisa a preocupá-lo nestes últimos dias. O que é?
— Nada que eu saiba — disse eu com sinceridade. — Nada em que você possa ajudar tampouco. Esqueça-se. Olhe, os reis disseram aonde iam? Certamente poderiam ter falado até mais não poder em Segontium, ou mesmo durante o caminho.
— Eles seguiam para o alto do penhasco. Há um lugar lá na ponta da crista de onde se pode descortinar o vale de todos os lados. Havia uma velha torre ali. Chamam-na Dinas Brenin.
— O Forte do Rei? Que tamanho tem a torre?
— Não há nada lá agora além de um monte de pedras. Por quê?
— Eu... nada. — Quando voltaremos para casa? Gostaria de saber!
— Dentro de mais uma hora. Olhe, por que não desce e eu o faço entrar num bom joguinho de dados?
Sorri.
— Obrigado por nada. Mantive-o afastado do seu jogo também? Desculpe-me.
— Não faz mal. Eu estava perdendo, de qualquer maneira. Está bem, vou deixá-lo só, mas você não vai pensar em fazer nenhuma tolice agora, vai? Não vale a pena esticar o pescoço. Lembra-se do que lhe disse da pomba torcaz?
E naquele momento exato uma pomba torcaz passou como uma seta, batendo asas, num zumbido que ergueu uma nuvem de gelo, qual uma onda. Logo atrás dela, um pouco acima, pronto para o ataque, seguia um falcão.
A pomba subiu um pouco ao deparar com a encosta, deslizando como uma gaivota sobre a crista de uma onda, e mergulhando numa moita perto da borda da depressão. Estava a apenas alguns centímetros do chão e seria perigoso para o falcão atacá-la, mas ele devia estar faminto, porque assim que ela atingiu a beira da moita, atacou-a.
Um grito, um feroz quic-ic-ic do falcão, um agitar de galhos partidos e o silêncio. Algumas penas flutuaram lentamente, caindo como neve.
Avancei rápido, correndo pela beirada.
— Ele apanhou-a!
Era óbvio o que acontecera; as duas aves entrelaçadas haviam mergulhado na moita e batido de encontro ao chão. Pelo silêncio era provável que ambos estivessem caídos ali, atordoados.
A moita era um emaranhado profundo que encobria quase todo um lado da depressão. Afastei os galhos para os lados, abrindo caminho. A trilha de penas indicava-me a direção. Encontrei-os. A pomba estava morta, o peito para baixo, as asas abertas ao embater contra as pedras, o sangue a tingir vivamente o arco-íris de penas que lhe enfeitava o pescoço. Sobre ela, o falcão. As garras afiadas firmemente cravadas no dorso da pomba, o bico cruel meio quebrado pela colisão. Estava ainda vivo. Quando me curvei sobre ele, suas asas moveram-se e as pálpebras azuladas ergueram-se descobrindo os ferozes olhos negros.
Cerdic chegou, ao meu lado, resfolegando.
— Não toque nele! Estraçalhará suas mãos. Deixe-me fazê-lo.
Endireitei-me.
— Aí vai a sua pomba torcaz, Cerdic. Já é tempo de a esquecermos, não é? Não, deixe-os. Ainda estarão aqui quando voltarmos.
— Voltarmos? De onde?
Apontei silenciosamente para o que surgia à nossa frente, diretamente na trilha que as aves haviam tomado. Um buraco quadrado e escuro como uma porta no terreno íngreme por trás da moita; uma entrada escondida aos olhos do passante desinteressado, por algum motivo, só para ser vista por alguém que abrisse caminho entre os galhos emaranhados.
— Que é isso? — perguntou Cerdic. — Parece a entrada de uma velha mina, pelo aspecto.
— É. Foi isso o que vim ver. Arranje uma luz e venha comigo. Ele começou a protestar, mas eu o interrompi.
— Você pode vir ou não, como quiser. Mas dê-me uma luz. E ande depressa, não há muito tempo.
Quando comecei a abrir caminho para a entrada, ouvi-o ainda a resmungar, arrancando mancheias de mato seco para improvisar uma tocha.
Logo na entrada do acesso havia uma pilha de monturo e algumas pedras caídas onde as estacas de madeiras tinham apodrecido, mas para além o poço era bastante regular, seguindo mais ou menos nivelado rumo ao coração da montanha. Eu conseguia caminhar quase completamente esticado e Cerdic, que era baixo, só precisava curvar-se ligeiramente. A chama da tocha improvisada projetava sombras grotescas à nossa frente. Mostrava sulcos no chão, onde cargas tinham sido arrastadas para a claridade do dia, e nas paredes e no teto as marcas das picaretas e talhadeiras que tinham aberto o túnel.
— Aonde diabos pensa que está indo? — A voz de Cerdic às minhas costas tornava-se aguda de nervoso. — Olhe, vamos voltar. Estes lugares não são seguros. O teto pode desabar.
— Não vai desabar. Mantenha a tocha acesa — disse eu, seco, prosseguindo.
O túnel dobrava à direita e começava a fazer uma descida suave. Debaixo da terra, a pessoa perde todo o senso de direção; não há nem o sopro da brisa passando-nos pelo rosto, a nos indicar o rumo, como acontece mesmo nas noites mais escuras; mas eu supus que devíamos estar dando voltas em direção ao centro da montanha na qual se erguia a velha Torre do Rei. Aqui e acolá túneis menores saíam para a direita e para a esquerda, mas não havia perigo de nos perdermos; estávamos na galeria principal e a rocha parecia razoavelmente boa. Em alguns pontos, houvera desmoronamentos do teto ou da parede e uma vez fui obrigado a parar por causa de um monte de entulho que quase bloqueava o caminho, mas galguei-o e o túnel estava desimpedido mais além.
Cerdic parará na barreira de entulho. Estendeu a tocha e espreitou-me.
— Ei, olhe, Merlin, volte pelo amor de Deus! Isto ultrapassa qualquer espécie de loucura. Digo-lhe que estes lugares são perigosos e estamos descendo para as próprias entranhas da rocha. Só os deuses sabem o que existe lá embaixo. Volte, menino.
— Não seja covarde, Cerdic, há bastante lugar para você. Venha, passe. Depressa.
— Isso é que não. Se você não sair neste minuto, juro como vou voltar e contar ao Rei...
— Olhe, — disse eu, — isto é importante. Não me pergunte por quê. Mas juro-lhe que não há perigo. Se estiver com medo, dê-me a tocha e volte.
— Você sabe que não posso fazer isso.
— Sim, eu sei. Você não ousaria voltar para contar a ele, ousaria? E, se me largasse e acontecesse alguma coisa, o que acha que aconteceria com você?
— Eles dizem a verdade quando afirmam que você é filho do diabo — exclamou Cerdic.
Eu ri.
— Você pode falar o que quiser quando voltarmos para fora, mas apresse-se agora por favor, Cerdic. Você está a salvo, juro. Não há perigo no ar hoje, e você viu como o falcão nos mostrou a porta.
Ele veio, naturalmente. Pobre Cerdic! Não lhe restava mais nada a fazer. Mas quando se acercou de mim outra vez, com a tocha erguida, vi-o olhar-me de esguelha, a mão esquerda fazendo o sinal contra o mau-olhado.
— Não se demore — disse ele. — É só.
Vinte passos mais adiante, contornando uma curva, o túnel abria-se numa gruta.
Fiz sinal para que ele erguesse o archote. Não conseguia falar. Aquele imenso vazio bem no coração da montanha, aquela escuridão mal afetada pela chama da tocha, aquele silêncio mortal no ar, onde eu podia ouvir e sentir minha própria pulsação — aquele era naturalmente o lugar. Reconheci cada marca dos trabalhos: a face riscada e cortada pelas picaretas e fendida pela água. Lá estava o teto abobadado desaparecendo na escuridão; num outro canto, um pedaço de metal enferrujado onde estivera a bomba. Lá estava a umidade brilhante na parede, não mais um filete, mas uma cortina de umidade faiscante. E lá onde havia as poças e a infiltração sob 3 saliência, um lago grande e parado. Um terço do chão estava sob água.
O ar possuía um cheiro estranho todo seu, o sopro da água e da rocha viva. Em algum ponto do alto a água pingava, e cada pingo claro era como um pequeno martelo a bater no metal. Tirei a tocha ardente da mão de Cerdic e acerquei-me da beira da água. Segurei a tocha o mais alto que pude, bem acima da água, e olhei para baixo. Não havia nada para se ver. A luz refletiu de volta na superfície dura como um metal. Esperei. A luz correu e brilhou, mergulhando na escuridão. Não havia nada ali, além do meu reflexo, como o fantasma no espelho de Galapas.
Devolvi a tocha a Cerdic. Ele não falava. Estivera a me observar todo o tempo com aquele olhar de esguelha, o branco dos olhos aparecendo.
Toquei-lhe o braço.
— Podemos voltar agora. Esta coisa está toda destruída, de qualquer maneira. Vamos.
Não falamos enquanto voltávamos pela galeria curva; passamos o entulho e o acesso, saindo para a tarde gelada. O céu estava claro, de um azul leitoso. As árvores de inverno erguiam-se frágeis e silenciosas contra o céu e as bétulas pareciam ossos. Do sopé uma trombeta chamou, urgente, no ar parado e metálico.
— Eles estão partindo.
Cerdic mergulhou a tocha no chão gelado para apagá-la. Corri pela moita abaixo. A pomba continuava lá, fria e já rígida. O falcão, também; tinha-se retirado do corpo da presa e empoleirara-se perto dela numa pedra, curvado e imóvel, mesmo quando me aproximei. Apanhei a pomba torcaz e atirei-a para Cerdic.
— Meta-a na sua mochila. Não preciso recomendar-lhe para não contar o que se passou, preciso?
— Não precisa. O que está fazendo?
— Ele está atordoado. Se o abandonarmos aqui, congelará até morrer em menos de uma hora. Vou levá-lo.
— Tome cuidado 1 É um falcão adulto...
— Ele não me vai ferir.
Apanhei o falcão, que arrepiara as penas para proteger-se do frio. Era macio como uma corujinha. Puxei a manga de couro sobre o pulso esquerdo, onde ele se encarapitou, agarrando-se ferozmente. As pálpebras estavam abertas agora e os olhos escuros e selvagens observavam-me. Mas ele permaneceu imóvel com as asas fechadas. Ouvi Cerdic resmungar de si para si, ao curvar-se para recolher minhas coisas no lugar onde eu fizera minha refeição. Então acrescentou uma coisa que eu nunca ouvira dele antes:
— Vamos, então, jovem amo.
O falcão continuava dócil no meu pulso quando eu tomei lugar no fim da comitiva de meu avô, de volta para casa, em Maridunum.
O falcão tampouco tentou deixar-me quando chegamos a casa. Descobri, ao examiná-lo, que algumas das penas das asas tinham sido feridas no mergulho e na queda ao atacar a pomba torcaz, de modo que as tratei conforme Galapas me ensinara. Depois disso, ele empoleirou-se na pereira do lado de fora da minha janela, aceitando a comida que eu lhe oferecia, sem tentar fugir.
Levei-o comigo na próxima vez que fui ver Galapas.
Estávamos no primeiro dia de fevereiro e o gelo se desfizera em chuva na noite anterior. Era um dia cinzento com nuvens baixas e um ventinho cortante em meio à chuva. Correntes de vento assoviavam por todo o palácio, as cortinas estavam corridas sobre as portas e as pessoas permaneciam envoltas nas suas capas de lã, junto aos braseiros. Pareceu-me, também, que um silêncio pesado caía sobre o palácio; mal vira meu avô desde que voltara a Maridunum, mas ele e seus nobres sentavam-se em conselho horas a fio e havia rumores de brigas e vozes erguidas quando ele e Camlach estavam fechados juntos. Certa vez, quando me dirigia ao quarto de minha mãe, disseram-me que ela estava rezando e não podia ver-me. Via-a de relance, através da porta entreaberta, e poderia jurar que, ajoelhada aos pés da imagem santa, ela chorava.
Mas no vale alto nada mudara. Galapas tomou o falcão, elogiou meu trabalho nas asas, colocou-o numa saliência protegida perto da entrada da gruta, e convidou-me a acercar-me do fogo e aquecer-me. Com uma concha tirou um pouco de guisado de uma panela fumegante e fez-me comer antes de escutar minha história. Então, contei-lhe tudo, até as brigas no palácio e as lágrimas de minha mãe.
— Era a mesma gruta, Galapas, isto eu juro! Mas por quê? Não havia nada lá. E nada mais aconteceu, nada mesmo. Indaguei o melhor que pude, e Cerdic perguntou entre os escravos, mas ninguém sabe o que discutiram os reis ou por que meu avô e Camlach se desentenderam. Mas ele me disse uma coisa: eu estou sendo vigiado. Pela gente de Camlach. Eu teria vindo vê-lo há mais
tempo se não fosse isso. Eles saíram hoje, Camlach e Alun e o resto. Então, eu disse que ia para a beira do rio treinar o falcão e vim até aqui.
Mas, como permanecesse calado, repeti preocupado, quase ansioso:
— O que está acontecendo, Galapas? O que significa tudo isso?
— Sobre o seu sonho e a descoberta da gruta, nada sei. Quanto à confusão no palácio, posso adivinhar. Você sabia que o Suserano teve filhos do primeiro casamento, Vortimer, Katigern e o jovem Pascentius?
Assenti.
— Nenhum deles estava lá em Segontium?
— Não.
— Dizem que eles romperam com o pai — continuou Galapas — e Vortimer está aliciando tropas próprias. Dizem que ele gostaria de ser o Suserano e que Vortigern parece estar com uma rebelião nas mãos quando menos poderia enfrentá-la. A rainha é muito odiada, você sabe disso; a mãe de Vortimer era uma boa bretã e, além disso, os jovens querem um rei jovem.
— Camlach é a favor de Vortimer, então? — perguntei rápido e ele sorriu.
— Parece que sim.
Refleti por uns instantes.
— Bem, quando os lobos se desentendem, não dizem que os corvos recebem o que é seu?
Como nascera em setembro, sob o signo de Mercúrio, o corvo era meu.
— Talvez — disse Galapas. — Você, mais provavelmente, será trancado numa gaiola mais cedo do que espera. — Mas falou isso distraído, como se sua mente estivesse longe, e eu voltei para o que me preocupava mais.
— Galapas, você disse que nada sabe sobre o meu sonho da gruta. Mas isto... isto deve ter sido a mão de Deus.
Olhei para a saliência onde estava o falcão, sentado pacientemente, os olhos entrefechados, uma nesga de luz.
— Pareceria que sim. Hesitei.
— Não poderíamos descobrir o que ele... o que quer dizer?
— Você quer entrar na gruta de cristal, novamente?
— N-ão, não quero. Mas acho que talvez devesse. Certamente, você pode-me dizer isso, não?
Falou apreensivo passados alguns momentos:
— Acho que você deve entrar, sim. Mas, primeiro, preciso ensinar-lhe mais uma coisa. Você deverá acender o fogo por si mesmo desta vez. Não assim — disse sorrindo quando estendi a mão para apanhar um graveto e revolver as brasas. — Deixe isso. Você me pediu antes de partir que lhe mostrasse alguma coisa real. Isto é tudo que ainda tenho para ensinar-lhe. Eu não havia percebido... Bem, deixe isso para lá. Está na hora. Não, sente-se quieto, você não tem mais necessidade de livros de criança. Observe, agora.
Sobre o que aconteceu a seguir eu não escreverei. Foi toda a arte que ele me transmitiu, além de certos truques de cura. Mas, como disse, foi a primeira mágica que me ocorreu, e será a última a deixar-me. Achei fácil até mesmo produzir o fogo gelado e o fogo espontâneo e o fogo que salta como um látego pela escuridão; e foi melhor assim, porque eu era jovem para aprender tais coisas, e isso é uma arte que, quando se é incompetente ou se está mal preparado, pode deixar-nos cegos.
Estava escuro lá fora quando terminamos. Ele pôs-se de pé.
— Voltarei dentro de uma hora para acordá-lo.
Puxou a capa que estava pendurada velando o espelho, agasalhou-se e saiu.
As chamas lembravam o galope de um cavalo. Um língua comprida e brilhante estalava como um chicote. Uma tora caiu com um silvo que parecia o suspiro de uma mulher e, então, milhares de gravetos estalaram como pessoas falando, cochichando, pairando sobre as novidades...
Tudo foi desaparecendo num brilho intenso e silencioso. O espelho piscou. Apanhei minha capa, agora confortavelmente seca, e entrei na gruta de cristal. Dobrei-a e deitei-me sobre ela, os olhos fixos na parede de cristal que abobadava sobre mim. As chamas perseguiam-me, fileiras sobre fileiras brilhantes, enchendo o ar, até que me encontrei num globo de luz que se assemelhava ao interior de uma estrela, tornando-se cada vez mais brilhante, quando de repente se partiu e sobreveio a escuridão.
Os cascos a galope faiscavam no cascalho da estrada romana. O chicote do cavaleiro estalava e voltava a estalar, mas o cavalo já corria a toda a velocidade, as narinas dilatadas e vermelhas, a respiração saindo sob forma de vapor, no ar frio. O cavaleiro era Camlach. Muito atrás dele, quase meia milha atrás, vinha o resto dos rapazes do seu grupo e muito mais atrás, levando um cavalo coxo e encharcado, vinha o mensageiro portador das notícias para o filho do Rei.
A cidade estava coalhada de luzes, homens corriam para receber o cavalo que galopava, mas Camlach não fez caso deles. Meteu as esporas pontiagudas nos flancos do cavalo e atravessou direto a cidade, a galope pela rua íngreme, até o pátio externo do palácio. Havia tochas ali, também. Elas refletiram o brilho de seu cabelo ruivo quando ele desmontou e atirou as rédeas nas mãos do escravo que aguardava. As botas macias de montar não fizeram ruído quando ele correu escadas acima e ao longo da colunata que levava ao quarto do pai. A silhueta preta e veloz perdeu-se um momento na sombra do arco, então escancarou com violência a porta e passou.
O mensageiro estava certo. Fora uma morte rápida. O velho estava deitado na cama romana de entalhes e sobre ele alguém colocara uma manta de seda púrpura. Tinham de alguma forma conseguido erguer seu queixo, pois a barba grisalha e agressiva apontava para o teto, e um pequeno descanso de cabeça em barro cozido, colocado sob o pescoço, mantinha-lhe a cabeça reta, enquanto o corpo lentamente adquiria a rigidez de ferro. Do modo como estava deitado, não havia sinal de que o pescoço estivesse partido. Já o velho rosto começava a definhar, a enrugar à medida que a morte desbastava a pele a partir da ponta do nariz, transformando-a em simples planos de cera fria. As moedas de ouro postas na sua boca e as pálpebras fechadas brilhavam à luz dos archotes nos quatro cantos da cama.
Ao pé da cama, entre as tochas, encontrava-se Niniane. Imóvel e empertigada, vestida de branco, as mãos cruzadas no regaço apertando o crucifixo, a cabeça curvada. Quando a porta abriu, ela não ergueu os olhos, mas manteve-os fixos na manta púrpura, não de pesar, mas quase como se estivesse longe demais para pensar.
O irmão veio rapidamente para o seu lado, esguio em sua roupa preta, num movimento rápido, com uma espécie de graça selvagem que pareceu chocar os presentes.
Caminhou direto para a cama e ficou ali contemplando o pai. Então estendeu a mão e colocou-a sobre as mãos inertes cruzadas sobre a seda púrpura. Sua mão demorou-se ali por um momento e então retraiu-se. Olhou para Niniane. Por trás dela, a alguns passos imersos nas sombras, o pequeno grupo de homens, mulheres e criados arrastavam os pés e murmuravam. No meio deles, silenciosos e de olhos secos, Mael e Duach, de olhos arregalados. Dinias, também, toda a sua atenção fixa em Camlach.
Camlach falou muito baixinho, diretamente com Niniane.
— Disseram-me que foi um acidente. É verdade?
Ela não se moveu nem falou. Ele fitou-a por um momento, então, com um gesto de irritação, olhou mais além e ergueu a voz.
— Um de vocês, responda-me! Foi acidente?
Um homem adiantou-se, um dos criados do Rei, chamado Mabon.
— É verdade, my lord. — Ele passou a língua nos lábios, hesitante.
Camlach mostrou os dentes.
— Infernos! Que diabos está havendo com todos vocês? Então viu para onde convergiam os olhares e baixou os olhos para o quadril direito, onde, desembainhada, se encontrava a adaga curta, metida no cinto. Estava ensangüentada até o punho. Ele fez um som de impaciência e nojo e, puxando-a, atirou-a longe. Ela passou roçando pelo chão, indo bater contra a parede com um pequeno tinido que ecoou no silêncio do quarto.
— De quem pensaram que era o sangue? — perguntou ainda com o lábio torcido. — Sangue de veado, é só. Quando a notícia chegou, tínhamos acabado de matá-lo. Eu estava a doze milhas de distância, eu e meus homens. — Fitou-os como se os desafiasse a fazer comentários. Ninguém se moveu. — Continue, Mabon. Ele escorregou e caiu, disse-me o homem. Como aconteceu?
O homem pigarreou.
— Uma coisa estúpida, senhor, um simples acidente. Ora, ninguém estava perto dele. Foi no pequeno pátio, no caminho dos aposentos dos criados, onde os degraus estão gastos. Um dos homens estivera a carregar óleo para abastecer as lâmpadas e deixara cair um pouco nos degraus. Antes que voltasse para limpá-lo, o Rei passou, um tanto apressado. Ele não era esperado ali, àquela hora. Bem, my lord, ele pisou no óleo e caiu estatelado para trás, indo bater com a cabeça na pedra. Foi assim que aconteceu, my lord. Foi visto. Há gente que pode jurar.
— E o culpado?
— Um escravo, my lord.
— Já trataram dele?
— My lord, ele está morto.
Enquanto conversavam, ouviu-se uma agitação na colunata, à chegada do grupo de Camlach, que acorreu ao quarto do Rei.
Entraram juntos no quarto, enquanto Mabon falava, e agora Alun, aproximando-se do príncipe de mansinho, tocou-lhe o braço.
— A notícia está por toda a cidade, Camlach. Há uma multidão juntando-se aí fora. Um milhão de histórias circulando... cedo haverá encrenca. Você terá que mostrar-se e dirigir-se a eles.
Camlach deu-lhe um olhar rápido e assentiu.
— Vá cuidar disso, sim? Bran, vá com ele e Ruan, também. Fechem os portões. Digam ao povo que vou sair daqui a pouco. E agora, todos vocês, fora!
O quarto esvaziou-se. Dinias retardou-se no portal, não recebeu sequer um olhar e acompanhou o resto. A porta fechou-se.
— Bem, Niniane?
Em todo esse tempo ela não olhara para ele nem uma só vez. Agora ergueu os olhos.
— O que quer de mim? É verdade o que Mabon contou. O que não disse é que o Rei estivera vadiando com uma criada e encontrava-se bêbado. Mas foi um acidente e ele está morto... E você com todos os seus amigos estavam a umas boas doze milhas de distância. Assim, você é o Rei agora, e não há nenhum homem que possa apontar o dedo para você e dizer: — Ele queria que o pai morresse.
— E nenhuma mulher me pode dizer isso tampouco, Niniane.
— Eu não o disse. Estou apenas comentando que as brigas aqui terminaram. O reino é seu... e agora é como Alun disse, é melhor ir lá fora falar ao povo.
— Com você primeiro. Por que fica de pé assim, como se não se importasse? Como se mal estivesse aqui conosco?
— Talvez porque seja verdade. O que você é, meu irmão, e o que quer, não me interessa, exceto para pedir-lhe uma única coisa.
— E o que é?
— Que você me deixe partir agora. Ele nunca permitiria, mas creio que você concordará.
— Para São Pedro? Ela inclinou a cabeça.
— Eu lhe disse que nada aqui me interessava. Não me interessa já há algum tempo, e agora menos ainda com toda essa conversa de invasão e guerra na primavera, e os rumores sobre mudanças de poder e morte de reis... Oh, não me olhe assim; não sou tola e meu pai conversava comigo. Mas não precisa recear; nada que eu saiba ou faça poderá jamais transformar os planos que você fez para si próprio, meu irmão. Digo-lhe que não há nada que eu queira da vida, exceto ser deixada em paz e viver em paz e o mesmo para o meu filho.
— Você disse "uma coisa". Aí já são duas.
Pela primeira vez alguma coisa reviveu nos seus olhos; poderia ter sido medo. Disse, apressada:
— Sempre existiu um plano para ele, o seu plano, antes mesmo que fosse o do meu pai. Certamente, depois que Gorlan partiu, você sabia que, ainda que o pai de Merlin pudesse aparecer com espada empunhada e três mil homens a apoiá-lo, eu não iria com ele? Merlin não pode causar-lhe nenhum mal, Camlach. Nunca passará de um bastardo sem nome e você sabe que ele não é guerreiro. Os deuses sabem que ele não pode fazer-lhe mal algum.
— E menos ainda encerrado num seminário? — a voz de Camlach era insinuante.
— E menos ainda encerrado num seminário. Camlach, você está brincando comigo? O que tem em mente?
— Esse escravo que derramou o óleo - disse ele. - Quem foi?
Aquele brilho nos olhos dela outra vez. Então as pálpebras baixaram.
— O saxão, Cerdic.
Ele não se moveu, mas a esmeralda no seu peito faiscou subitamente contra o preto das vestes como se seu coração saltasse. Ela exclamou arrebatada:
— Não finja que adivinhou isso! Como poderia adivinhar?
— Não foi adivinhação, não. Quando cheguei, o palácio ressoava de boatos como uma harpa partida. — E acrescentou numa súbita irritação: — Você fica parada como um fantasma, as mãos na barriga como se ainda tivesse aí um bastardo para proteger.
Surpreendentemente ela sorriu.
— Mas, eu tenho. — E como a esmeralda saltasse outra vez: — Não seja idiota. Onde arranjaria outro bastardo agora? Quis dizer que não poderia partir sem saber que ele está a salvo. E que ambos estamos a salvo do que você pretende fazer.
— Do que pretendo fazer a você? Juro que não há nada...
— Estou-me referindo ao reino do meu pai. Mas deixamos isso por ora. Já lhe disse que o meu único interesse é que o Convento de São Pedro seja deixado em paz... E será.
— E viu isso na bola de cristal?
— É proibido a um cristão envolver-se com adivinhações — disse Niniane, mas sua voz parecia um pouco afetada demais e ele encarou-a com intensidade; então, subitamente desassossegado, deu alguns passos em direção às sombras que escureciam um lado do quarto, voltando logo para a luz.
— Diga-me — falou, abrupto. — E Vortimer?
— Morrerá — respondeu indiferente.
— Todos morreremos um dia. Mas você sabe que me empenhei com ele. Não me poderia dizer o que acontecerá na próxima primavera?
— Não vejo nada, nem posso dizer-lhe nada. Mas, quaisquer que sejam os seus planos para o reino, de nada lhe servirá deixar o menor rumor de assassinato surgir e posso-lhe dizer mais, você c um idiota se pensa que a morte do Rei foi outra coisa que não um acidente. Dois dos valetes presenciaram, e a moça com quem ele estivera.
— O homem disse alguma coisa antes de ser morto?
— Cerdic? Não. Só que fora um acidente. Ele parecia mais preocupado com meu filho do que consigo próprio. Foi tudo o que disse.
— Foi o que ouvi — disse Camlach.
O silêncio voltou. Eles encararam-se um ao outro.
— Você não faria isso — disse ela.
Ele não respondeu. Ficaram ali, os olhos fixos um no outro, enquanto uma corrente de ar irrompia pelo quarto, fazendo as tochas escorrerem.
Então ele sorriu e saiu. Quando a porta bateu atrás dele, um golpe de ar soprou pelo quarto, cortando as chamas das tochas e fazendo a sombra e a luz andarem à roda.
As chamas morriam e os cristais embaciavam. Quando engatinhei para fora da gruta e puxei a capa atrás de mim, ela rasgou-se. As brasas no fogo eram de um vermelho-escuro. Do lado de fora, estava bem escuro. Desci os degraus aos tropeções e corri para o portal.
— Galapas! — gritei. — Galapas!
Ele estava lá. Sua silhueta alta e curvada destacou-se na penumbra e encaminhou-se para a gruta. Os pés, seminus nas sandálias velhas, estavam azuis de frio.
Parei a um metro dele, mas era como se tivesse corrido direto para os seus braços e me tivesse envolvido na sua capa.
— Galapas, eles mataram Cerdic.
Ele não disse nada, mas o seu silêncio era como palavras ou mãos confortadoras.
Engoli para amenizar a dor na minha garganta.
— Se eu não tivesse vindo aqui esta tarde... Eu o enganei, juntamente com os outros. Mas poderia ter confiado nele, até a seu respeito. Galapas, se eu tivesse ficado... se eu tivesse estado lá... talvez pudesse ter feito alguma coisa.
— Não. Você de nada valeria. E sabe disso.
— Eu valho menos que nada agora. — Levei a mão à cabeça; doía brutalmente e meus olhos flutuavam, ainda meio cegos. Ele me tomou carinhosamente pelo braço e fez-me sentar junto ao fogo.
— Por que diz isso? Um momento, Merlin, conte-me o que aconteceu.
— Você não sabe? — perguntei, surpreso. — Ele estava reabastecendo as lâmpadas na colunata e um pouco de óleo pingou nos degraus e o Rei escorregou, caiu e partiu o pescoço. Não foi culpa de Cerdic, Galapas. Ele só deixou cair o óleo, foi só, e ia voltar, ia realmente voltar para limpá-lo quando aconteceu. De modo que o apanharam e o mataram.
— E agora Camlach é o Rei.
Creio que fiquei olhando fixamente para ele por algum tempo, sem vê-lo, com aqueles olhos cegos pelo sonho, o cérebro momentaneamente incapaz de absorver coisa alguma além daquele simples fato.
Ele insistiu, carinhoso:
— E sua mãe? O que aconteceu a ela?
— O quê? Que foi que disse?
A forma cálida de um copo foi colocada em minhas mãos. Podia sentir o cheiro da mesma bebida que ele me dera antes, quando eu sonhara na gruta.
— Beba isto. Você deveria ter dormido até que eu viesse acordá-lo, então não sairia assim. Beba tudo.
À medida que eu bebia, a dor aguda nas têmporas foi amortecendo, deixando apenas um latejamento, e as formas que dançavam ao meu redor voltaram a entrar em foco. E com elas meus pensamentos.
— Sinto muito. Estou bem agora. Posso pensar novamente, já voltei a mim... Vou-lhe contar o resto. Minha mãe deverá ir para São Pedro. Ela tentou fazer Camlach prometer que me deixaria partir, também, mas ele não concordou. Creio...
— Sim?
Falei lentamente, pensando com esforço.
— Não entendi tudo. Estava pensando em Cerdic. Mas acho que ele vai-me matar. Creio que usará a morte do meu avô para isso; dirá que foi o meu escravo quem o matou... Oh, ninguém vai acreditar que eu possa tirar alguma coisa de Camlach, mas se ele me encerrar numa casa religiosa, e então eu morrer tranqüilamente, pouco depois, até que os rumores se espalhem, ninguém erguerá a voz para denunciá-lo. E por essa altura, se minha mãe for apenas uma das mulheres santas de São Pedro e não mais a filha do Rei, também não terá voz para falar. — Aconcheguei as mãos em torno do corpo, olhando para ele. — Por que alguém teria tanto medo de mim, Galapas?
Ele não respondeu, mas acenou para o copo que eu tinha nas mãos.
— Acabe de beber. Depois, meu querido, você precisa partir.
— Partir? Mas, se eu voltar, eles me matarão, ou me trancarão... não é?
— Se eles o encontrarem, tentarão. Eu disse ansioso:
— Se eu ficasse aqui com você... ninguém sabe que eu venho aqui... mesmo que me descobrissem e viessem em meu encalço, você não correria perigo! Nós os veríamos subindo o vale a milhas de distância, ou saberíamos que eles viriam, você e eu... Eles nunca me encontrariam; eu poderia esconder-me na gruta de cristal.
Ele sacudiu a cabeça.
— A hora para isso ainda não chegou. Um dia, mas não agora. Você já não poderia ficar escondido agora, do mesmo modo que o seu falcão não poderia voltar para o ovo.
Olhei de esguelha para a saliência onde o falcão estivera encolhido, como a coruja de Atenas. Não havia mais ave ali. Passei as costas da mão nos olhos e pisquei sem acreditar. Mas era verdade. As sombras iluminadas pelo fogo estavam vazias.
— Galapas, ele foi-se embora.
— Sim.
— Você o viu partir?
— Ele passou quando você me chamou de volta à gruta.
— Eu... em que direção?
— Sul.
Bebi o resto da poção e virei o copo para baixo para deixar cair as últimas gotas para o deus. Então pousei-o e apanhei minha capa.
— Voltarei a ver você, não?
— Sim. Prometo-lhe.
— Então voltarei?
— Já lhe prometi isso. Algum dia esta gruta será sua com tudo que ela contém.
Vindo da noite, passou por ele um vento frio que agitou minha capa e deixou-me os cabelos da nuca em pé. Minha pele arrepiou-se. Levantei-me, envolvi-me na capa e prendi-a com o broche.
— Você vai, então? — Ele sorria. — Confia em mim tanto assim? Aonde pretende ir?
Não sei. Para casa, suponho eu, para começar. Terei tempo de pensar durante o caminho, se for necessário. Mas ainda estou no caminho do deus. Posso sentir o vento soprando. Por que está sorrindo, Galapas?"
Ele, porém não quis responder. Ergueu-se, puxou-me para si, curvou-se e me deu um beijo. Seu beijo era seco e leve, o beijo de um homem velho, como uma folha morta roçando na pele ao cair. Então empurrou-me em direção à entrada.
— Vá. Já deixei o pônei selado à sua espera.
Ainda chovia quando desci o vale. A chuva era miúda e fria e me deixava encharcado; juntava-se na minha capa e pesava nos ombros e misturava-se às lágrimas que escorriam pelo meu rosto.
Essa foi a segunda vez na vida que chorei.
O portão dos estábulos estava trancado. Era o que eu já esperava. Naquele dia, eu saíra abertamente pelo pátio principal, levando o falcão, e em qualquer outra noite poderia ter arriscado voltar pelo mesmo caminho, com a história de ter perdido o falcão e ter ficado rodando até o anoitecer à sua procura. Mas não naquela noite.
E naquela noite não haveria ninguém esperando por mim para abrir-me o portão.
Embora a necessidade de pressa bafejasse na minha nuca, mantive o pônei impaciente, a passo, e cavalguei silencioso ao longo da muralha do palácio na direção da ponte. Esta e a estrada que dali saía regurgitavam de gente e tochas e barulho e duas vezes, nos poucos minutos desde que a avistara, passaram cavaleiros em desenfreado galope que atravessaram a ponte rumo ao sul.
Agora as árvores molhadas e despidas do pomar debruçavam-se sobre o caminho de reboque. Sob a muralha alta havia um fosso onde iam bater os ramos, molhados. Escorreguei do lombo do pônei e levei-o para a minha macieira pendente, onde o amarrei. Então, subi de volta à sela e pus-me de pé sem nenhuma estabilidade, equilibrei-me por um momento e pulei para o galho alto.
Eu estava encharcado e uma das mãos resvalou, mas a outra agüentou. Atirei as pernas para o alto, cruzei-as em torno do ramo e, feito isso, foi só uma questão de minutos trepar na muralha e descer pelo pomar.
Para a esquerda erguia-se o muro alto que vedava o jardim do meu avô; para a direita o pombal e o terraço elevado onde Moravik costumava sentar-se com seu tear. À minha frente, a construção alongada e baixa dos aposentos da criadagem. Para meu alívio, quase não havia luz. Toda iluminação e clamor do palácio concentravam-se do outro lado do muro à minha esquerda, na ala principal. De mais além, vinha o tumulto das ruas, abafado pela chuva.
Mas não havia luz na minha janela. Corri.
Com o que eu não contara é que o tivessem trazido para ali, para o seu antigo lugar. O colchão estava estendido agora, não atravessado junto à porta, mas, para o fundo, no canto, junto à minha cama. Não havia púrpura, nem tochas; ele estava caído, como o haviam atirado. Só o que consegui ver na semi-obscuridade foi o corpo desajeitado, esparramado, um braço aberto e a mão espalmada no chão frio. Estava escuro para ver como morrera.
Curvei-me e tomei-lhe a mão. Já estava fria e o braço começara a enrijecer. Ergui-a carinhosamente, coloquei-a junto ao corpo e corri para minha cama, arrancando a fina manta de lã. Estendi-a sobre Cerdic, e endireitei-me rápido, apurando o ouvido, quando uma voz de homem gritou alguma coisa à distância e ouvi passos na extremidade da colunata, com a resposta:
— Não. Ele não passou por aqui. Estive vigiando a porta. O pônei já entrou?
— Não. Nem sinal. — E então, em resposta a um outro grito:
— Bem, ele não pode ter ido longe. Freqüentemente ainda está fora a estas horas. O quê? Oh, sim, está bem...
Os passos afastaram-se, rápidos. Silêncio.
Havia uma lâmpada num suporte em algum lugar da colunata. Irradiava luz suficiente pela porta entreaberta, para deixar-me ver o que eu fazia. Silenciosamente, ergui a tampa da arca, tirei a pouca roupa que possuía, minha melhor capa, e um par sobressalente de sandálias. Juntei tudo isso numa mochila, juntamente com os meus outros pertences, um pente de marfim, um par de broches e uma fivela de cornalina — esses eu poderia vender. Subi na cama e atirei a mochila pela janela. Então corri de volta para Cerdic, afastei a manta e, ajoelhado, apalpei seu quadril. Tinham-lhe deixado a adaga. Puxei a fivela com os dedos, mais desajeitados do que a escuridão os tornava, e ela cedeu. Tirei-a com cinto e tudo, uma adaga de homem, duas vezes mais longa que a minha e mortalmente afiada. A minha, coloquei-a junto a ele, no colchão. Poderia precisar dela no lugar para onde fora, mas eu duvidava; suas mãos sempre lhe bastaram.
Eu estava pronto. Fiquei a contemplá-lo mais uma vez, sem vê-lo, mas sim, como na gruta de cristal, à posição em que haviam colocado meu avô, com a tocha, os veladores e a púrpura. Aqui, nada havia, exceto trevas, uma morte de cão. A morte de um escravo.
— Cerdic — disse eu, à meia-voz. Já não chorava. Terminara.
— Cerdic, descanse agora. Vou enviá-lo da maneira como você queria, como um rei.
Corri para a porta, escutei por um momento, e então me esgueirei pela colunata deserta. Tirei a lâmpada do suporte. Era pesada, lambuzada de óleo; ele a abastecera mesmo aquela tarde.
De volta ao meu próprio quarto, levei a lâmpada para onde ele jazia. Agora — o que eu não previra — podia ver como ele morrera: tinham-lhe cortado a garganta.
Mesmo que eu não tivesse querido, aconteceria. A lâmpada tremeu-me nas mãos e o óleo quente espalhou-se na manta. Uma fagulha desprendeu-se do pavio e caiu. Então, atirei a lâmpada ao seu corpo, e observei-o por cinco longos segundos, enquanto a chama corria para o óleo e explodia como espuma incandescente.
— Vá com seus deuses, Cerdic — disse eu, saltando a janela.
Caí sobre a trouxa e rolei pela grama molhada. Em seguida recolhi-a e corri para a muralha do rio.
A fim de não assustar o pônei, parti para um lugar alguns metros além da macieira e atirei a trouxa no fosso por cima da muralha; voltando então para a árvore, subi até o topo.
Montado ali, olhei para trás. O fogo pegara. Minha janela aclarava-se agora, com uma luz vermelha e palpitante. O alarma ainda não fora dado, mas numa questão de minutos as chamas seriam percebidas ou alguém sentiria o cheiro da fumaça. Desci rápido, fiquei pendurado pelas mãos por uns instantes e finalmente deixei-me cair. Quando me erguia, uma sombra gigantesca pulou sobre mim, derrubando-me.
Caí sob o corpo pesado de um homem que me imobilizou na relva lamacenta. Uma mão espalmada cobriu-me o rosto com violência, abafando meu grito. Bem perto de mim ouvi passos rápidos, o ruído desagradável do metal desembainhado e uma voz de homem, ansiosa, que dizia, em bretão:
— Espere, faça-o falar, primeiro.
Fiquei completamente imóvel. Isto foi fácil, pois não somente a força do ataque do primeiro homem tirara-me todo o fôlego, como também eu sentia sua faca na minha garganta. Quando o segundo homem falou, o meu captor, com um rosnado de surpresa, aliviou seu peso e a faca afastou-se uns centímetros. Disse, num tom entre surpreso e desgostoso:
— É apenas um menino. — E então para mim, asperamente, em galés: — Não faça nenhum barulho ou corto-lhe a garganta agora mesmo. Compreendeu?
Assenti. Ele retirou a mão da minha boca e, levantando-se, pôs-me de pé. Empurrou-me contra a parede, segurando-me ali, a faca ainda a espetar-me a clavícula.
— O que significa tudo isso? O que está fazendo...fugindo do palácio como um rato perseguido por cães? Um ladrão? Fale, desgraçado, antes que eu o esgane.
Sacudiu-me como se eu fosse realmente um rato. Consegui ofegar:
— Nada, eu não estava fazendo nada de mal! Deixe-me ir! O outro homem falou baixinho, na escuridão:
— Veja o que ele atirou por cima da muralha. Uma mochila cheia de coisas.
— O que leva aí dentro? — perguntou-lhe meu captor. E para mim: — Fique quieto, você.
Não precisava avisar-me. Pensei ter pressentido o cheiro da fumaça e o primeiro clarão de luz quando o fogo avançou pelas traves do telhado.- Encolhi-me ainda mais na sombra escura da muralha.
O outro homem examinava minha trouxa.
— Roupas... sandálias... pelo tato, algumas jóias...
Ele se afastara para o caminho de reboque e agora, com os meus olhos habituados à escuridão, pude vê-lo. Um homem que mais parecia uma fuinha, os ombros curvados e um rosto fino e pontudo sob uns fiapos de cabelo. Ninguém que eu conhecesse.
Dei um suspiro de alívio.
— Vocês não são homens do Rei! Quem são, então? O que querem aqui?
O homem com cara de fuinha parou de remexer em minha mochila e encarou-me.
— Isto não é da sua conta — disse o grandalhão que me segurava. — Nós é que fazemos as perguntas. Por que está com tanto receio dos homens do Rei? Conhece-os, eh!
— Claro que sim. Moro no palácio. Sou... escravo, lá.
— Marric — era o fuinha que falava, áspero — dê uma olhada aqui, há um princípio de fogo. Estão zumbindo como numa casa de marimbondos. Não vale a pena estar a perder tempo com um escravo. Corte a garganta dele e vamos correr enquanto podemos.
— Um momento — disse o grandalhão. — Ele pode saber alguma coisa. — Olhe aqui, seu...
— Se vai cortar minha garganta de qualquer maneira — disse eu — por que deveria contar-lhe alguma coisa? Quem são vocês?
Ele inclinou a cabeça para a frente, de súbito, espreitando-me.
— Está cantando de galo de repente, não é? Não lhe interessa quem somos. Um escravo, eh? Fugindo?
— É.
— Andou roubando?
— Não.
— Não? E as jóias na trouxa? E isso? Isso não é uma capa de escravo!
Ele apertou a gola da capa até que me contorci.
— E aquele pônei? Vamos, a verdade!
— Está bem. — Esperei que minha voz soasse triste e acovardada, como a de um escravo. — Tirei algumas coisas. É o pônei do príncipe, de Myrddin... Eu... eu o encontrei perdido. Verdade, senhor. Ele saiu hoje e ainda não voltou. Deve ter sido atirado fora da sela, é um péssimo cavaleiro. Eu... foi uma sorte... eles não darão por falta dele até que eu já esteja longe. — Puxei-lhe a roupa, suplicante. — Por favor, senhor, deixe-me ir. Por favor! Que mal poderia eu fazer-lhe...?
— Marric, pelo amor de Deus, não temos tempo. — As chamas tinham-se apoderado da construção agora e crepitavam com violência. Ouviam-se gritos no palácio e o fuinha puxou o braço do meu captor. — A maré está baixando rapidamente e só os deuses sabem se ela estará lá com este tempo. Ouça o barulho... virão para este lado a qualquer momento.
— Não virão — disse eu. — Estarão muito ocupados em apagar o fogo para pensar em qualquer outra coisa. Já estava alto quando eu o deixei.
— Quando o deixou?! — Marric não se mexera; olhava fixamente para mim e seu aperto era menos feroz. Você ateou aquele fogo?
— Ateei.
Eu tinha agora toda a atenção deles, até do fuinha.
— Por quê?
— Porque tenho ódio deles. Mataram o meu amigo.
— Quem matou?
— Camlach e sua gente. O novo Rei.
Fez-se um curto silêncio. Eu podia ver Marric melhor, agora. Era um homem grande, rude, com um tufo de cabelo preto e olhos escuros que faiscavam ao fogo.
— E — acrescentei — se eu ficasse, eles me teriam matado, também. Assim, pus fogo ao palácio e fugi. Deixe-me ir, agora.
— Por que iriam querer matá-lo? Vão querer agora, naturalmente, com esse palácio a arder como uma tocha — mas por que antes disso? O que foi que você fez?
— Nada. Mas eu era escravo do velho Rei e... creio que eu ouvia coisas. Escravos ouvem tudo. Camlach acha que eu poderia ser perigoso... Ele tem planos... Eu sabia deles. Acredite-me, senhor — disse eu, ansioso. — Eu o teria servido tão bem quanto serviao velho Rei, mas ele matou meu amigo.
— Que amigo? E por quê?
— Outro escravo, um saxão, de nome Cerdic. Ele derramou um pouco de óleo nos degraus e o velho Rei caiu. Foi um acidente, mas eles cortaram-lhe a garganta.
Marric voltou a cabeça para o outro.
— Ouviu isso, Hanno? É verdade. Soube na cidade. — Então, voltando-se para mim: — Muito bem. Agora pode contar-nos um pouco mais. Você diz que conhece os planos de Camlach?
Mas Hanno interrompeu-o novamente, desta vez desesperado.
— Marric, pelo amor de Deus! Se você acha que ele tem algo a nos contar, traga-o conosco. Ele pode falar no barco, não pode? Estou-lhe dizendo: se esperarmos muito mais, vamos perder a maré e ela partirá. Pelo jeito, aproxima-se mau tempo e estou apostando que eles não irão esperar. — E em bretão: — Podemo-nos descartar dele mais tarde tão facilmente quanto agora.
— Barco? — exclamei eu. — Vocês vão pelo rio?
— Que outro lugar? Acha que podemos ir pela estrada? Olhe para a ponte — acenou Marric com a cabeça. — Está bem, Hanno. Entre. Vamos.
Ele começou a arrastar-me pela trilha de reboque. Eu resisti.
— Aonde me vai levar?
— Isto é assunto nosso. Sabe nadar?
— Não.
Ele riu entre dentes. Não era um som reconfortante.
— Então, não lhe vai fazer diferença para que lado vamos. Venha! — E ele fechou a mão sobre minha boca mais uma vez, levantou-me debaixo do braço como se eu não fosse mais pesado que a minha trouxa e atravessou o caminho de reboque em direção ao brilho oleoso e escuro que era o rio.
O barco era um bote de couro, semi-oculto pelo barranco. Hanno já estava a lançá-lo. Marric desceu o barranco com um pulo e um escorregão, jogou-me na embarcação que balançava e subiu atrás de mim. Quando o bote se afastou do barranco, fez-me sentir, novamente, a faca encostada à minha nuca.
— Aqui. Está sentindo? Agora fique calado até passarmos a ponte.
Hanno impeliu o barco e com o remo levou-nos para o meio da correnteza. A alguma distância da margem senti a correnteza apanhar o barco e ganhamos velocidade. Hanno debruçou-se sobre o remo e manteve-o esticado para livrar-nos do arco sul da ponte.
Seguro por Marric, eu estava sentado de frente para a popa. Quando a correnteza nos apanhou, levando-nos para o sul, ouvi o relincho de Aster, alto e assustado, ao cheirar a fumaça, e, à luz das chamas agora fragorosas, vi-o arrastar as rédeas partidas, ao emergir das sombras da muralha correndo como um fantasma pela trilha de reboque. Com fogo ou sem fogo, seguiria para o portão e para o seu estábulo e eles o encontrariam. Fiquei imaginando o que iriam pensar, onde me iriam procurar. Cerdic teria desaparecido agora, e o meu quarto com a arca pintada e a manta digna de um príncipe. Será que pensariam que eu encontrara o corpo de Cerdic e com o choque e o medo deixara cair a tocha? Que o meu próprio corpo estava lá carbonizado nos restos da ala da criadagem? Bem, o que quer que pensassem não faria diferença. Cerdic partira ao encontro dos seus deuses e eu, pelo que parecia, ia ao encontro dos meus.
O ARCO NEGRO DA PONTE cruzou com o barco e desapareceu. Fugia-mos a favor da correnteza. A maré estava quase mudando, mas o fim da vazante levava-nos rápido. O ar refrescava e o bote começou a jogar.
A faca afastou-se da minha pele. Frente a mim, Marric falou:
— Bem, até aqui tudo bem. O moleque nos ajudou com o seu incêndio. Não havia ninguém vigiando o rio para ver o bote escapulir por baixo da ponte. Agora, menino, vamos ouvir o que tem a nos contar. Qual é o seu nome?
— Myrddin Emrys.
— E você diz que era... ei, espere um instante! Você disse Myrddin? Não o bastardo, por acaso?
— É.
Ele deixou escapar um assovio e o remo de Hanno parou, para mergulhar novamente apressado, enquanto o barco girava e começava a jogar, atravessado na correnteza.
— Você ouviu isso, Hanno? É o bastardo. Então, por que, em nome dos espíritos sob a terra, disse-nos que era escravo?
— Eu não sabia quem eram vocês. Como não me haviam reconhecido, pensei que eram ladrões ou homens de Vortigern e assim me deixariam partir.
— Mochila, pônei e todo o resto... Então era verdade que estava fugindo? Bem, — acrescentou ele, pensativo — se as histórias são verdadeiras, você não tem culpa naquilo. Mas, por que atear fogo ao palácio?
— Isso também é verdade. Eu já contei. Camlach matou um amigo meu, Cerdic, o saxão, embora ele nada tivesse feito para merecê-lo. Acho que só o mataram porque era meu e pretendiam usar sua morte contra mim. Puseram o corpo no meu quarto para que eu o encontrasse. Então pus fogo ao quarto. O povo dele gosta de ir ao encontro de seus deuses assim.
— E o diabo que se encarregue de todo o resto no palácio?
Respondi com indiferença:
— A ala da criadagem estava vazia. Estavam todos ceando, ou procurando por mim, ou servindo Camlach. É surpreendente — ou talvez não seja — como as pessoas mudam depressa sua lealdade. Imagino que eles apagarão o fogo antes que atinja os aposentos reais.
Ele me fitou em silêncio por um momento. Ainda corríamos com a maré em mudança, já agora, fora do estuário. Hanno não deu sinais de mudar o rumo para a margem mais distante. Aconcheguei-me mais à minha capa e estremeci.
— Para onde fugia você? — perguntou Marric.
— Para nenhum lugar.
— Olhe, menino, eu quero a verdade, ou então, príncipe bastardo ou não, atiro-o na água agora. Ouviu? Não duraria uma semana se não tivesse para onde ir, ou para o serviço de quem entrar. Quem tinha em mente? Vortigern?
— Seria sensato, não? Camlach está apoiando Vortimer.
— Ele está o quê? — Sua voz esganiçou-se. — Tem certeza?
— Toda. Ele cogitava disso antes, e foi a razão de sua briga com o velho Rei. Ele e seu grupo se teriam separado de qualquer modo, creio eu. Agora naturalmente poderá levar o reino todo com ele, e fechá-lo para Vortigern.
— E abri-lo para quem?
— Não ouvi isso. Quem mais há? Você pode imaginar que ele não estaria alardeando isso até hoje à noite, quando seu pai, o Rei, morreu.
— Hum. — Ele refletiu um minuto. — O velho Rei deixa um segundo filho, se os nobres não desejarem essa aliança...
— Um filho? Você não está sendo um pouco ingênuo? Camlach tinha um bom exemplo a sua frente: Vortimer não estaria onde está se o pai não tivesse feito exatamente o que Camlach fará.
— E o que é?
— Você sabe tão bem quanto eu. Olhe, por que deveria dizer mais sem saber quem é você? Não está na hora de me contar?
Ele ignorou a pergunta. Parecia pensativo.
— Você parece saber um bocado. Que idade tem?
— Doze. Farei treze em setembro. Mas não preciso ser inteligente para saber sobre Camlach e Vortimer. Ouvi ele próprio dizê-lo.
— Ouviu? Pelo Touro? E o que mais ouviu?
— O bastante. Eu estava sempre no caminho. Ninguém reparava em mim. Mas minha mãe vai-se retirar agora para o convento de São Pedro e eu não daria um caracol pelas minhas chances, de modo que parti.
— Para Vortigern?
— Já lhe disse francamente: Não tenho idéia. Eu... eu não tenho planos. Talvez tivesse que ser Vortigern afinal. Que escolha há além dele, e os lobos saxões pendurados às nossas gargantas o tempo todo até que tenham dilacerado e engolido a Bretanha? Quem mais há?
— Bem — disse Marric — Ambrosius.
— Ri.
— Oh, sim, Ambrosius, pensei que você estivesse falando sério. Sei que vem da Bretanha Menor, percebo isso pela sua fala, mas...
— Você perguntou quem éramos. Somos homens de Ambrosius.
Fez-se silêncio. Eu percebera que os barrancos do rio haviam desaparecido. Distante na escuridão, surgiu uma luz para o norte: o farol. Há algum tempo a chuva diminuíra e parará. Agora fazia frio devido ao vento fora da costa e a água estava picada. O barco jogava e girava e senti os primeiros sinais de enjôo. Apertei as mãos contra o estômago com força, tanto devido ao frio quanto à náusea e perguntei, esganiçado.
— Homens de Ambrosius? Então são espiões? Espiões dele?
— Chame-nos de homens leais.
— Então é verdade? É verdade que ele está esperando na Bretanha Menor?
— É, é verdade.
Disse, aterrado:
— Então é para lá que vamos? Vocês decerto não acreditam que chegaremos lá neste barquinho horrível.
Marric riu-se e Hanno disse, azedo:
— Poderemos ter que fazer isso mesmo, se o navio não estiver aí.
— Que navio estaria aí no inverno? — perguntei. — Não é tempo para navegar.
— É tempo para navegar quando se paga bem — disse Marric,
seco. — Ambrosius paga. O navio estará aí. — Sua manopla descansou no meu ombro, não sem gentileza. — Não se preocupe com isso, ainda há coisas que quero saber.
Enrosquei-me, segurando a barriga, tentando inalar grandes sorvos de ar frio e puro.
— Oh, sim, há muita coisa que poderia contar-lhe. Mas, se me vai atirar na água de qualquer forma, não tenho nada a perder, tenho? Faria melhor guardando o resto das minhas informações para mim mesmo... ou ver se Ambrosius pagará, para obtê-las.
E lá está o seu navio. Olhe: se não consegue vê-lo ainda, deve ser cego. Agora não fale mais comigo, sinto-me mal.
Ouvi-o rir-se outra vez, entre dentes.
— Você é dos calmos, não há dúvida. É, lá está o navio, posso vê-lo bastante claramente agora. Bem, sabendo quem você é, nós o levaremos a bordo. E vou dizer-lhe a outra razão: gostei do que disse a respeito do seu amigo. Parecia bastante sincero. Então, sabe ser leal, hem? E não tem razão para ser leal a Camlach, a julgar pelas histórias, ou a Vortigern. Será que poderia ser leal a Ambrosius?
— Saberei quando o vir.
Seu punho atirou-me esparramado no fundo do barco.
— Principelho ou não, dobre a língua quando falar dele. Há muitas centenas de homens que pensam nele como seu rei, de direito.
Ergui-me com ânsias de vômito. Um brado veio de muito perto e no instante seguinte estávamos balançando na sombra mais escura de um navio.
— Se ele for um homem, isso será suficiente — disse eu.
O navio era pequeno, compacto e pesado. Fundeado ali, sem luzes, era uma sombra no mar escuro. Eu só distinguia o caimento do seu mastro jogando — nauseantemente, parecia-me, — contra as nuvens que eram apenas um pouquinho mais claras que o céu negro, no alto. Estava equipado como os navios mercantes que entravam e saíam de Maridunum em tempo de navegação, mas achei que parecia mais bem construído e mais veloz.
Marric respondeu ao brado, então uma corda desceu pela borda e Hanno, apanhando-a, amarrou-a.
— Vamos, ande logo. Você sabe subir, não?
De alguma forma consegui pôr-me de pé no bote balouçante. A corda estava molhada e repuxava nas minhas mãos. Do alto vinha uma voz ansiosa:
— Depressa, por favor. Teremos sorte se ainda conseguirmos voltar com o tempo que se aproxima.
— Para o alto, desgraçado — exclamou Marric asperamente, dando-me um empurrão. Era só o que me estava faltando. Minhas mãos escorregaram pela corda, insensíveis, e caí de volta no bote, estatelando-me meio atravessado na borda, onde fiquei ofegante a vomitar, sem ligar para o destino que me coubesse ou mesmo para uma dúzia de reinos. Se eu tivesse sido esfaqueado ou atirado ao mar naquela altura, duvido de que chegasse a notar, exceto para receber a morte como um alívio. Deixei-me ficar ali pendurado na borda do bote como um monte de trapos, a vomitar.
Lembro-me muito pouco do que aconteceu a seguir. Houve um bocado de xingamento e creio lembrar-me de Hanno a recomendar ansioso a Marric para diminuir suas perdas e atirar-me à água; mas fui apanhado e de alguma forma arremessado às mãos que esperavam no alto. A seguir, alguém entre eles carregou-me e arrastou-me para baixo e largou-me numa pilha de cobertas com um balde à mão e o ar de uma escotilha aberta a bater-me no rosto suado.
Creio que a viagem levou quatro dias. Mau tempo, certamente que houve, mas finalmente deixamo-lo para trás e fizemos boa velocidade. Permaneci embaixo todo o tempo, agradecido por estar aconchegado em cobertores, sob a escotilha, mal me aventurando a erguer a cabeça. O pior do enjôo passou depois de algum tempo, mas duvido de que pudesse mover-me e felizmente ninguém tentou obrigar-me a isso.
Marric desceu uma vez. Lembro-me vagamente como se tivesse sido um sonho. Abriu caminho por entre um monte de correntes de âncoras até onde eu me encontrava, parou, o corpanzil curvado, olhando-me. Então sacudiu a cabeça.
— E pensar que acreditei estar fazendo uma boa coisa em trazê-lo. Devíamos tê-lo atirado na água de saída e poupado um bocado de trabalho. Acho que não deve ter muito mais para nos contar, de qualquer forma.
Não dei resposta.
Ele soltou um rosnado estranho que pareceu um riso e saiu. Eu dormi, exausto. Quando acordei, descobri que minha capa molhada, as sandálias e a túnica tinham sido removidas e que, seco e nu, encontrava-me embrulhado em cobertores. Próximo à minha cabeça havia um jarro de água, a boca tampada com uma rosca de trapos, e um pedaço de pão de cevada.
Não teria conseguido tocar em nenhum dos dois, mas entendi o seu significado. Dormi.
E, um dia, pouco antes do amanhecer, avistamos a Costa Brava e ancoramos nas águas calmas de Morbihan, que os homens chamam de Mar Pequeno.
LIVRO 2 - O FALCÃO
ASSIM QUE CHEGAMOS À TERRA fui despertado daquele pesado sono de exaustão por vozes que falavam sobre mim.
— Bem, muito bem, se você acredita nele. Mas acha realmente que mesmo um príncipe bastardo estaria a bordo nessas roupas?Tudo encharcado, nem mesmo uma fivela dourada no cinto, e olhe as sandálias dele. De fato, é uma boa capa, mas está rasgada. Mais provavelmente a primeira história era a verdadeira e ele é um escravo fugindo com as coisas do dono.
Era naturalmente a voz de Hanno, que estava falando em bretão. Felizmente eu tinha as costas voltadas para os dois, enroscado no monte de cobertores. Era fácil fingir que dormia. Continuei imóvel e tentei manter a respiração regular.
— Não; é mesmo o bastardo. Vi-o na cidade. Eu o teria reconhecido mais cedo se tivéssemos podido acender uma luz. — A voz mais profunda era de Marric. — De qualquer modo, pouca diferença faz quem seja; escravo ou bastardo real, privou de muita coisa naquele palácio e Ambrosius quererá ouvi-lo. E é um rapaz esperto; oh, sim, é o que diz ser. Não se aprendem esses modos frios e esse tipo de conversa nas cozinhas.
— Bem, mas... — A mudança na voz de Hanno me deu arrepios. Continuei imóvel.
— Bem, mas o quê?
O fuinha baixou ainda mais a voz.
— Talvez se o fizéssemos falar antes... quero dizer, encare a coisa assim. Tudo aquilo que ele nos disse, de ter ouvido o que o rei Camlach pretendia fazer e tudo o mais... Se tivéssemos conseguido essas informações por nós mesmos e escapássemos para relata-las, haveria uma gorda recompensa para nós, não haveria?
Marric rosnou.
— E quando ele desembarcar e contar a alguém de onde veio? Ambrosius saberia. Ele sabe tudo.
— Está tentando ser ingênuo?
A pergunta era acrimoniosa. Só me restava manter-me imóvel. Havia um espaço entre as minhas espáduas onde a pele endureceu sobre a carne como se já sentisse a faca.
— Oh, não sou tão ingênuo assim. Entendo-o. Mas não vejo como...
— Ninguém em Maridunum sabe para onde ele foi. — O sussurro de Hanno era apressado e ansioso. — Quanto aos homens que o viram embarcar, pensarão que o levamos conosco. De fato é o que faremos, levá-lo-emos conosco agora e há uma porção de lugares entre aqui e a cidade... — Ouvi-o engolir. — Eu bem lhe disse antes de zarparmos que não fazia sentido gastar dinheiro com a passagem...
— Se íamos livrar-nos dele — disse Marric, rude, — teríamos feito melhor em não pagar passagem alguma. Seja sensato. Afinal, vamos receber o dinheiro de volta agora e talvez um pouco mais.
— Como calcula isso?
— Bem, se o menino tem informações, Ambrosius pagará a passagem, pode estar seguro. E se é mesmo o bastardo — e tenho certeza de que é — haverá um extra para nós. Filhos de reis — ou netos — podem vir a ser úteis, e quem saberia melhor que Ambrosius?
— Ambrosius deve saber que o menino é inútil como refém — declarou Hanno, sombrio.
— Quem sabe? E se não tiver serventia para Ambrosius, então ficaremos com ele, para vender e dividir o lucro. Portanto, deixe estar como lhe digo. Vivo poderá valer alguma coisa; morto não vale nada, e poderemos ver-nos em apuros para pagar-lhe a passagem.
Senti o dedão de Hanno cutucar-me, nada gentilmente.
— Não parece valer para coisa alguma, no momento. Já viu alguém tão doente? Deve ter o estômago de uma menina. Supõe que ainda possa andar?
— Podemos descobrir — disse Marric, sacudindo-me. — Ei, menino, levante-se.
Gemi, voltando-me lentamente e mostrando-lhes o que gostaria que fosse um rosto tremendamente pálido.
— O que é? Já chegamos? — perguntei em galês.
— Sim, chegamos. Vamos agora, ponha-se de pé, vamos desembarcar.
Gemi novamente, mais desanimado que antes, e apertei o estômago.
— Oh, meu Deus, deixem-me em paz!
— Um balde de água salgada — sugeriu Hanno.
Marric endireitou-se.
— Não há mais tempo. — Falou em bretão outra vez. — Parece que teremos de carregá-lo. Não! Teremos de deixá-lo; precisamos ir direto ao Conde. Hoje é o dia da reunião, está lembrado? Ele já deve saber que o navio atracou e estar à espera de ver-nos antes de partir. É melhor levarmos o relatório diretamente a ele, do contrário teremos encrenca. Deixaremos o menino aqui, por ora.
É melhor trancá-lo e dizer ao vigia para ficar de olho nele. Pode remos estar de volta bem antes da meia-noite.
— Você pode, quer dizer — respondeu Hanno, azedo. — Eu tenho uma coisa que não pode esperar.
— Ambrosius também não pode esperar. Assim, se quiser receber seu dinheiro, é melhor vir. Eles já estão quase terminando de descarregar. Quem está de vigia?
Hanno disse alguma coisa, mas o rangido da pesada porta ao ser fechada à saída deles e, a seguir, a pancada das barras sendo metidas nos encaixes, abafaram a resposta. Ouvi as cunhas assentarem, e então perdi as vozes e os passos nos ruídos da operação de descarga, que sacudia o navio — o rangido dos guindastes, os gritos dos homens e, a alguma distância em terra, o sibilar e guinchar das amarras, e as batidas dos fardos içados e atirados no cais.
Joguei as cobertas para o lado e sentei-me. Com o desaparecimento do horrível balanço do navio senti-me firme outra vez — até bem, com uma espécie de leveza e um vazio que me davam uma estranha sensação de bem-estar, uma sensação de flutuar, ligeiramente irreal como o poder que se tem em sonhos. Ajoelhei-me nas cobertas e corri os olhos em meu redor.
Havia lanternas no cais para os homens trabalharem e a luz penetrava pela pequena escotilha. E deixava ver o jarro de boca larga, ainda no mesmo lugar, e um novo pedaço de pão de cevada. Destampei o jarro e provei a água com cautela. Estava velha e sabia a trapo, mas boa, e limpou o gosto metálico que eu trazia na boca. O pão estava duro como pedra, mas amoleci-o na água até que pudesse partir um pedaço para comer. A seguir, levantei-me e fui olhar pela escotilha.
Para fazer isso, precisei esticar-me até à beirada da escotilha e içar-me com as mãos, buscando um apoio para os pés nos travessões que revestiam o tabique. Calculara pelo formato da minha prisão que o porão estava na proa, o que mais tarde vi que estava certo. O navio encontrava-se atracado ao longo de um cais de pedra, onde havia um par de lanternas penduradas em postes, e à sua claridade uns vinte homens — soldados — trabalhavam para trazer os fardos e caixas do navio. Ao fundo do cais existia uma fileira de prédios sólidos, provavelmente para armazenagem, mas aquela noite parecia que a mercadoria era destinada a outro lugar. Carroças aguardavam além dos postes, as mulas presas e pacientes. Os homens nas carroças usavam uniformes e portavam armas e havia um oficial no comando da operação de descarga.
O navio estava amarrado perto do cais a meia-nau, por onde descia o passadiço. A corda fronteira corria da grade acima da minha cabeça até o cais e isso permitia à proa, ao balançar, afastar-se de terra, de modo que entre mim e o cais havia uns cinco metros de água. Não havia luzes nesta extremidade do navio; a corda corria por uma nesga confortável de escuridão que se confundia, além, com a escuridão ainda mais densa dos prédios. Mas eu teria que esperar, resolvi, até que a descarga terminasse e as carroças — e provavelmente com elas os soldados — partissem. Haveria tempo para escapar mais tarde, tendo apenas o vigia a bordo e talvez até as lanternas retiradas do cais.
Não havia dúvida de que eu precisava fugir. Se ficasse onde estava, minha única esperança de segurança estava na boa vontade de Marric e isto por sua vez dependia do resultado da sua entrevista com Ambrosius. E se por alguma razão Marric não pudesse voltar e, ao invés, voltasse Hanno... A água e a horrível refeição de pão molhado pôs os sucos gástricos em movimento num estômago ferozmente vazio e a perspectiva de esperar duas ou três horas até que alguém me viesse buscar era intolerável, mesmo sem o receio do que essa vinda pudesse ocasionar. E ainda que o melhor acontecesse, e Ambrosius mandasse buscar-me, eu não poderia estar tão certo do meu destino nas suas mãos uma vez que ele obtivesse todas as informações que eu pudesse fornecer-lhe. A despeito do blefe que me livrara de ser morto pelos espiões, minhas informações a eles eram muito parcas e Marric estivera certo em pensar — e Ambrosius saberia — que eu era um refém imprestável. Minha condição semi-real poderia impressionar Marric e Hanno, mas o fato de ser neto do aliado de Vortigern e sobrinho de Vortimer não seria muita recomendação à bondade de Ambrosius. Parecia que, real ou não, meu fim seria a escravidão, se eu tivesse sorte, e sem esta, uma morte inglória.
E isso eu não tinha intenção de esperar. Não enquanto a escotilha estivesse aberta e o cabo corresse, ligeiramente frouxo, do navio ao poste de amarração no cais. Os dois espiões, supunha eu, estavam tão pouco acostumados a lidar com prisioneiros do meu tamanho, que nem lhes ocorrera pensar na escotilha. Nenhum homem, nem mesmo o fuinha do Hanno, poderia ter tentado escapar por ali, mas um menino magro, sim. E, ainda que tivessem pensado nisso, eles sabiam que eu não nadava e não teriam contado com a corda. Mas, examinando-a meticulosamente, pendurada ali na escotilha, achei que poderia utilizá-la. Se os ratos conseguiam descer por ela — e eu via um agora, um bicho grande e gordo, nédio de sobras, rastejando em direção à terra — eu também o conseguiria.
Mas teria que esperar. Entrementes, fizera-se frio e eu estava nu. Deixei-me cair de leve no porão e comecei a procurar minhas roupas.
A luz que vinha de terra era fraca, mas suficiente. Deixava ver o pequeno cubículo que era minha prisão, com os cobertores amontoados sobre uma pilha de sacos velhos que me servira de cama; uma arca empenada e rachada, encostada à parede; uma pilha de correntes enferrujadas, pesadas demais para que eu pudesse movê-las; o jarro de água, e num canto distante — "distante" querendo dizer a dois passos — o balde malcheiroso, ainda meio cheio de vômito. Não via nada mais. Poderia ter sido um impulso bondoso de Marric que o fizera despir-me das roupas encharcadas, mas, ou havia esquecido de devolvê-las ou as guardara para impedir que eu fizesse exatamente aquilo em que estava pensando.
Cinco minutos mostraram-me que a arca nada continha, exceto tabuinhas, um caneco de bronze e algumas tiras de couro para sandálias. Pelo menos, pensei, baixando a tampa sobre essa coleção desanimadora, tinham-me deixado as sandálias. Não que eu não estivesse acostumado a andar descalço, mas não no inverno, não nas estradas... Porque, nu ou vestido, eu ainda ia fugir. As próprias precauções de Marric tornavam-me ainda mais ansioso.
O que faria, para onde iria, não tinha idéia, mas o deus me livrara das mãos de Camlach e me enviara para além do Mar Estreito, e eu confiava no destino. Até onde eu planejara, pretendia aproximar-me o mais possível de Ambrosius para julgar que espécie de homem era, e então se achasse que encontraria apoio ali, ou ao menos misericórdia, poderia abordá-lo e contar-lhe minha história e oferecer-lhe meus serviços. Nunca me passara pela cabeça que pudesse haver algo de absurdo em pedir a um príncipe para empregar um menino de doze anos. Suponho que, quanto a isso ao menos, eu fosse real. Se falhasse o serviço de Ambrosius, creio que tinha uma idéia nebulosa de dirigir-me à vila ao norte de Kerrec, onde nascera Moravik, e indagar por sua gente.
Os sacos onde eu estivera deitado eram meio velhos e começavam a apodrecer. Foi bastante fácil rasgar um deles nas costuras para que a cabeça e os braços pudessem passar. Daria uma roupa horrível, mas me cobriria de algum modo. Rasguei um segundo e coloquei-o sobre a cabeça, também, para aquecer-me. Um terceiro tornar-se-ia muito volumoso. Passei os dedos pelos cobertores, anelante, mas eram cobertores bons, grossos demais para rasgar e constituiriam um estorvo imenso na minha descida do navio. Relutante, deixei-os ficar. Um par de correias de couro, amarradas uma à outra, formaram um cinto. Meti os restos do pão de cevada na frente da roupa, lavei o rosto, as mãos e o cabelo com o resto da água, então voltei à escotilha e guindei-me para espreitar lá fora.
Enquanto me vestia, ouvi gritos e batidas de pés como se os homens estivessem formando para marchar. Vi então que isto havia realmente acontecido. Homens e carroças partiam. A última das carroças, com grande carga, passava rangendo pelos prédios e o chicote estalava no lombo das mulas afadigadas. Com eles, seguia a batida dos pés em marcha. Imaginei qual seria a carga; dificilmente cereais naquela época do ano. Pensei em metal ou minério para ser descarregado por tropas e enviado à cidade sob guarda. Os sons perderam-se na distância. Olhei com cuidado ao meu redor. As lanternas continuavam nos postes, mas até onde se podia ver o cais estava deserto. Era hora de partir, antes que o vigia se decidisse a vir ver o prisioneiro.
Para um menino ágil foi fácil. Logo estava debruçado na beirada da escotilha, com o corpo para fora e as pernas firmes no tabique, enquanto procurava alcançar a corda. Houve um mau momento quando descobri que não podia alcançá-la, e teria que ficar de pé, segurando-me de alguma forma contra o casco do navio, acima das profundezas escuras que separavam o navio do cais, onde a água oleosa subia e descia, fazendo os detritos que flutuavam roçarem as pranchas molhadas. Mas consegui, agarrando-me ao casco do navio como se fosse mais um dos ratos que desciam, até que finalmente pude esticar-me para o alto e segurar o cabo. Este estava esticado e seco e descia num ângulo suave em direção ao poste de amarração do cais. Segurei-me com ambas as mãos, torci-me para voltar o rosto para fora e impulsionei as pernas para longe do navio e em torno da corda.
Eu pretendia descer devagarinho, palmo a palmo, para pousar nas sombras. Mas o que não calculara, não sendo marinheiro, fora a leveza do pequeno navio a flutuar. Até o meu pouco peso, ao guindar-me à corda, fez o navio sacudir forte e desconcertantemente e, inclinando-se, virar de súbito a proa na direção do cais. O cabo afrouxou, baixou com o meu peso quando a tensão diminuiu, e caiu formando uma alça. Na parte em que eu me pendurava, segurando-me como um macaco, ela de repente pendeu verticalmente. Meus pés soltaram, escorregando para baixo; minhas mãos não conseguiam sustentar-me. Deslizei pelo cabo como uma conta num fio.
Se o navio tivesse virado mais lentamente, eu teria sido esmagado ,ando ele encostasse ao cais, ou afogado quando eu atingisse a parte inferior do laço, mas o navio comportou-se como um cavalo sustado Ao chocar-se contra a beirada do cais, eu estava logo ima e a sacudidela soltou o que restava do meu aperto, e atirou-me fora Errei o mastro de amarração por centímetros e caí esparramado no chão endurecido pelo gelo, à sombra de uma parede.
Não HAVIA TEMPO para procurar saber se me teria machucado. Ouvi o ruído de pés descalços no convés, quando o vigia acorreu para ver o que se passava. Encolhi-me, rolei e pus-me a correr, antes que o foco de sua lanterna alcançasse a borda do navio. Ouvi-o gritar alguma coisa, mas já me abaixava a um canto dos edifícios, certo de que não me vira. Mesmo que me tivesse visto, eu pensava estar seguro. Primeiramente, ele iria verificar minha prisão, e ainda assim eu duvidava que ousasse sair do navio. Descansei por um momento, apoiado na parede, comprimindo as queimaduras produzidas pela corda nas minhas mãos e tentando habituar meus olhos à escuridão da noite.
Saído da semi-obscuridade de uma cela, isto não levou mais que alguns segundos e eu corri os olhos ao meu redor rapidamente, para orientar-me.
O barracão que me ocultava era o da ponta da fileira, e por trás, do lado oposto ao cais, descobri a estrada, uma faixa reta de cascalho que seguia em direção a um agrupamento de luzes a alguma distância. Aquilo, sem dúvida, deveria ser a cidade. Mais próximo, no ponto em que a estrada era tragada pela escuridão, via-se um brilho fraco e trêmulo, provavelmente, a luz traseira da última carroça. Nada mais se movia.
Era uma conclusão razoavelmente segura que quaisquer carroças, assim tão vigiadas, destinar-se-iam ao quartel-general de Ambrosius. Eu não fazia idéia se conseguiria chegar até lá, ou mesmo a qualquer cidade ou vila, mas tudo o que desejava, nessa altura, era encontrar alguma coisa para comer e um lugar aquecido onde pudesse esconder-me enquanto comia e esperava o amanhecer. Uma vez que eu me orientasse, o deus sem dúvida continuaria a me guiar.
Teria também que alimentar-me. Originalmente eu pretendera vender um dos meus broches para comer, mas agora, pensei, enquanto me arrastava na esteira das carroças, teria que roubar alguma coisa. Na pior das hipóteses guardava ainda o pedaço de pão de cevada. A seguir, um lugar para me esconder até raiar o dia... Se Ambrosius se encontrasse em reunião, como dissera Marric, seria mais que inútil dirigir-me ao seu quartel-general e pedir para vê-lo. Qualquer que fosse o juízo que eu fizesse da minha própria importância, este não incluía um tratamento privilegiado por parte dos soldados de Ambrosius se eu aparecesse assim vestido na sua ausência. Quando amanhecesse, veríamos.
Fazia frio. Minha respiração produzia uma fumaça cinzenta no ar escuro e gélido. Não havia lua, mas as estrelas faiscavam como olhos de lobo a observar-me. O gelo brilhava nas pedras do caminho e retinia sob os cascos e as rodas que seguiam à minha frente. Felizmente não ventava e meu sangue aqueceu-se na corrida, mas eu não ousava acercar-me do comboio, que avançava lento. Assim, de quando em vez, eu precisava retardar-me enquanto o ar gelado me cortava através dos sacos rasgados e eu batia os braços contra o corpo em busca de calor.
Felizmente havia muito onde me abrigar; arbustos, algumas vezes em tufos, em outras, isolados, curvavam-se como se tivessem congelado à passagem do vento dominante, procurando alcançá-lo com os dedos enregelados. Em meio a eles, grandes pedras erguiam-se pontiagudas em direção às estrelas. Tomei a primeira dessas por um imenso marco, mas vi então que outras se alinhavam aprumadas entre a vegetação como avenidas de árvores açoitadas pelo vento. Ou como uma colunata onde caminhassem os deuses — mas não deuses que eu conhecesse. A luz de uma estrela bateu na superfície de uma pedra onde eu parará para esperar e alguma coisa prendeu meu olhar: uma forma toscamente esculpida no granito e como que impressa em pó preto pelo brilho frio. Um machado duplo. As pedras estendiam-se pela escuridão como um desfile de gigantes. Um cardo seco, partido pela raiz, espetou-me a perna nua. Ao desviar-me, tornei a olhar o machado. Havia desaparecido.
Precipitei-me de volta à estrada, cerrando os dentes para não tremer. Era o frio que naturalmente me fazia tremer; que outra coisa? As carroças distanciaram-se outra vez e corri no seu encalço, mantendo-me na turfa à beira da estrada, embora essa, na realidade, parecesse tão dura quanto o cascalho. O gelo partia-se e rangia sob as minhas sandálias. Atrás de mim, o exército silencioso de pedras aprumadas marchava desaparecendo na escuridão, e diante de mim surgiam agora as luzes de uma cidade e o calor das casas a sair para me acolher. Creio que foi a primeira vez que eu, Merlin, precisei correr na direção da luz e das pessoas, correr da solidão como se ela fosse um círculo de olhos de lobo a empurrar-me para mais perto do fogo.
Era uma cidade murada. Eu poderia ter adivinhado, estando tão próximo do mar. Havia uma elevação de terra, no topo uma paliçada e do lado externo da elevação o fosso largo e esbranquiçado de gelo. Eles haviam quebrado o gelo, a intervalos, a fim de que não suportasse peso; eu podia distinguir as estrelas negras e o mapa de rachaduras que riscavam de leve a superfície cinzenta, à medida que o novo gelo se formava. Uma ponte de madeira cruzava o fosso dando acesso ao portão e ali as carroças pararam, enquanto o oficial se adiantava para falar aos guardas. Os homens imobilizaram-se como pedras e as mulas sapateavam, sopravam e faziam retinir seus arreios, ansiando pelo calor do estábulo.
Se eu tivesse tido a idéia de pular para a traseira de uma carroça e ser assim levado para dentro, teria sido forçado a abandoná-la. Durante todo o percurso para a cidade os soldados tinham sido distribuídos em filas ladeando o comboio, e o oficial cavalgava para um lado de onde podia observar o conjunto. Agora, ao dar ordem para avançar e romper cadência para atravessar a ponte, ele deu meia volta ao cavalo e recuou para o fim da coluna para ver a última carroça entrar.
Vi-lhe o rosto de relance, um homem de meia-idade, mal-humorado e encatarrado de gripe. Não era homem para ouvir-me com paciência ou mesmo sequer ouvir. Eu estaria mais seguro do lado de fora com as estrelas e as pedras aprumadas como gigantes em marcha.
O portão fechou-se com um estalido seco atrás do comboio, e eu ouvi as trancas serem corridas.
Havia uma trilha mal delineada que rumava para oeste ao longo do fosso. Quando me voltei para esse lado, vi que muito distante, tão distante que deveriam assinalar uma espécie de povoação ou fazenda bem além dos limites da cidade, surgiam mais luzes.
Comecei a trotar pela trilha, mastigando meu pedaço de pão de cevada.
As luzes pertenciam a uma casa de tamanho razoável cujas alas encerravam um pátio. A casa propriamente dita possuía dois andares e formava uma parede do pátio, cercado dos outros três lados por uma construção térrea — casas de banho, aposentos de criados, estábulos, padaria — e todo o conjunto com muros altos que exibiam apenas algumas janelas estreitas fora do meu alcance. Havia um portão em arco e ao lado deste, num suporte de ferro colocado à altura de um homem, ardia uma tocha, mortiça devido ao piche úmido. E mais luzes no interior do pátio; mas não se ouviam vozes nem movimentos. O portão, naturalmente, estava trancado.
Não que eu tivesse ousado entrar por ali, e encontrar um destino sumário nas mãos do porteiro. Contornei o muro, procurando esperançoso uma maneira de penetrar. A terceira janela era a da padaria; o cheiro do pão já contava horas e estava frio, mas ainda me teria feito escalar a parede se não fosse a janela, apenas um rasgo, que não admitiria nem a mim.
A próxima era a do estábulo e a seguinte também... Podia sentir a exalação dos cavalos e outros animais misturando-se à doçura da relva seca. Então vinha a residência, sem janela alguma para o exterior. A casa de banhos, a mesma coisa. E de volta ao portão.
Uma corrente retiniu de súbito a poucos passos de mim, no interior dos muros, e um grande cão pôs-se a ladrar como um repique de sinos. Creio que pulei para trás quase um passo, e encostei-me rente à parede ao ouvir uma porta abrir-se ali perto. Houve uma pausa enquanto o cachorro rosnava e alguém apurava o ouvido; a seguir uma voz que dizia alguma coisa em tom seco e a porta fechando-se. O cachorro resmungou de si para si por algum tempo, farejando o pé do portão e por fim arrastou sua corrente de volta ao canil; ouvi-o acomodar-se outra vez na palha.
Obviamente, não havia maneira de encontrar um abrigo. Fiquei parado uns instantes tentando raciocinar, as costas apoiadas na parede fria, que ainda assim parecia mais quente que o ar da noite. Eu tremia agora de frio tão violentamente que sentia os meus próprios ossos chocalharem. Estava seguro de ter agido bem em abandonar o navio e não me confiar à misericórdia das tropas, mas agora começava a perguntar-me se teria coragem de bater ao portão e pedir acolhida. Receberia uma dura penitência como mendigo, isto eu sabia, mas se ficasse ao sereno poderia muito bem morrer antes de o dia clarear.
Então vi, um pouco além da tocha, a forma baixa e escura de um prédio que deveria ser o galpão de gado, a uns vinte passos de distância, num canto do campo cercado por um barranco baixo e coroado de espinheiros. Eu podia ouvir o gado movendo-se ali. Ao menos haveria algum calor para compartilhar e, se conseguisse forçar meus dentes chocalhantes a morder o pão — ainda levava comigo um pedacinho de pão de cevada.
Afastara-me um passo do muro, movendo-me — poderia jurar — sem ruído, quando o cão saiu do canil numa arrancada, e recomeçou seus latidos infernais. Dessa vez, a porta da casa abriu-se imediatamente e ouvi passos de homem no pátio. Encaminhavam-se para o portão. Ouvi o metal arranhar, quando ele desembainhou uma arma. Voltava-me para correr quando percebi, clara e distintamente no ar gelado, o que perturbara o cachorro. O tropel de um cavalo, a todo galope, vindo em nossa direção.
Rápido como uma sombra, corri para o galpão pelo campo aberto. Junto a este, uma abertura no barranco fazia as vezes de portão e fora bloqueada com um espinheiro seco. Abri caminho precipitadamente e esgueirei-me o mais silenciosamente que pude para não perturbar os animais, indo agachar-me no portal do galpão, longe das vistas da entrada da casa.
O galpão era apenas um telheiro pequeno e toscamente construído, com paredes pouco mais altas que um homem, coberto de colmo e repleto de animais. Pareciam na sua maioria novilhos castrados, demasiado amontoados para poderem deitar-se, mas aparentemente bastante satisfeitos com o calor que produziam e a forragem seca para mastigar. Uma prancha tosca atravessada no portal barrava-lhes a saída. Do lado de fora, o campo estendia-se, vazio, sob a luz das estrelas, cinzento de geada e cercado pelo barranco baixo, serrilhado pelas moitas curvadas e tortas. No centro, via-se uma das pedras aprumadas.
Ouvi o homem falar no interior do pátio para silenciar o cão. O ruído dos cascos aumentou, martelando a trilha de ferro, e então, de repente, o cavaleiro estava sobre nós, emergindo do escuro e estacando o cavalo com um guincho do metal na pedra, uma chuva de cascalho e turfa gelada, e o baque dos cascos do animal contra a madeira do portão. O homem no interior gritou alguma coisa, uma pergunta e o cavaleiro respondeu-lhe ainda no ato de pular da sela.
— Claro que é. Abra, sim?
Ouvi a porta arranhar ao ser aberta, os dois homens conversarem, mas a não ser uma palavra aqui e ali, não conseguia distinguir o que diziam. Parecia, pelo movimento da luz, que o porteiro (ou quem quer que tivesse vindo ao portão) retirara a tocha do suporte. E, mais, a luz movia-se na minha direção e com ela os dois homens conduzindo o cavalo.
Ouvi o cavaleiro dizer com impaciência:
— Oh, sim, ficará bem aqui. E, se chegar a isso, será conveniente para eu poder sair rapidamente. Há forragem?
— Sim, senhor. Pus os animais novos lá para dar lugar aos cavalos.
— Vem muita gente, então? — A voz era jovem, clara, um pouco ríspida, mas isso poderia ser apenas o frio e a arrogância combinados. Uma voz de patrício descuidada, como o seu modo de montar, que quase pusera o cavalo de ancas, diante do portão.
— Um número razoável — disse o porteiro. — Cuidado agora, senhor, é por essa abertura. Se me deixar entrar primeiro com a luz...
— Posso ver — respondeu o rapaz, irritado — se você não empurrar a tocha em cima do meu rosto. Firme agora. — Esta última recomendação foi dirigida ao cavalo, que chutara uma pedra.
— É melhor deixar-me passar primeiro, senhor. Há um espinheiro atravessado na abertura, impedindo a saída. Se ficar um minuto de lado, poderei afastá-lo.
Eu já tinha desaparecido do portal do galpão e contornado um canto onde a parede tosca se encontrava com o barranco do terreno. Havia turfa espetada ali e um monte de galhos cortados e mato seco, que supus destinarem-se às camas de inverno. Agachei-me por detrás do monte.
Ouvi o espinheiro ser removido e atirado para um lado.
— Pronto, senhor, pode trazê-lo. Não há muito espaço, mas se tem certeza de que prefere deixá-lo aqui fora...
— Eu disse que serviria. Retire a prancha e deixe-o entrar. Depressa, homem, estou atrasado.
— Se o deixar comigo agora, senhor, eu o desencilharei.
— Não há necessidade. Estará bem por uma hora ou duas. Apenas desaperte a barrigueira. Creio que é melhor cobri-lo com minha capa. Deuses, está frio... Tire o freio, sim? Vou sair daqui...
Ouvi-o afastar-se, as esporas batendo. A prancha voltou ao lugar e, a seguir, o espinheiro. Quando o porteiro correu atrás dele, pensei ter ouvido algo assim:
— E deixe-me entrar pelos fundos, para que o pai não me veja. O grande portão fechou-se atrás deles. A corrente chocalhou, mas o cão manteve-se quieto. Ouvi os passos do homem cruzarem o pátio, e a seguir a porta da casa fechar-se.
MESMO QUE TIVESSE OUSADO arriscar-me à luz da tocha e ao cão e trepasse pelo barranco correndo uns vinte passos até o portão, teria sido desnecessário. O deus fizera sua parte; enviara-me calor e comida.
Mal o portão fechou, eu já estava de volta ao galpão, reconfortando o cavalo aos sussurros enquanto me acercava dele para roubar-lhe a capa. Ele não suava muito; deveria ter galopado apenas uma milha, se tanto, vindo da cidade, e naquele galpão, entre os animais amontoados, não sofreria com o frio; de qualquer forma, minhas necessidades vinham primeiro, e eu precisava da capa. Era uma capa de oficial, grossa, macia e gostosa. Quando pus as mãos sobre ela, descobri, para meu entusiasmo, que my lord me deixara não apenas a capa, mas também uma mochila cheia. Estiquei-me nas pontas dos pés e senti o interior da mochila.
Um cantil de couro, que sacudi. Estava quase cheio. Vinho, com certeza; um rapaz daqueles nunca levaria água. Um guardanapo com biscoitos, passas, e umas tiras de carne-seca.
Os animais empurravam-se babando e soprando o bafo quente sobre mim. A longa capa escorregara, formando uma trilha na sujeira, sob os cascos. Puxei-a, agarrei o cantil e a comida e esgueirei-me por debaixo da barreira. O monte de galhos do canto estava limpo, mas pouco me teria importado se tivesse sido um monte de estrume. Aninhei-me nele, enrolando-me confortavelmente nas dobras macias da capa de lã, e comi e bebi sem interrupção tudo o que o deus me enviara.
O que quer que acontecesse, eu não podia dormir. Infelizmente parece que o rapaz não se demoraria ali mais de uma ou duas horas; e isto, acrescido do prêmio da comida, deveria ser tempo suficiente para aquecer-me e assim dormir reconfortado até o amanhecer. Ouviria os movimentos da casa em tempo de arrastar-me de volta ao galpão e repor a capa. My lord provavelmente mal notaria que suas rações de marcha tivessem desaparecido da mochila.
Bebi mais um pouco de vinho. Era surpreendente que até as côdeas duras do pão de cevada adquirissem um gosto melhor. Era uma bebida boa, forte e doce, sabendo a passas. Correu quente pelo meu corpo até que as juntas entorpecidas se distenderam e como que se derreteram; parando de tremer, pude enroscar-me, aquecido e relaxado, no meu ninho escuro, com as samambaias a vedar o frio.
Devo ter dormido um pouco. Não tenho idéia do que possa ter-me acordado; não havia barulho. Até os animais no galpão estavam imóveis.
Parecia mais escuro, de modo que fiquei a pensar se estaria quase amanhecendo, hora em que as estrelas desaparecem. Mas, quando afastei o mato seco e espiei lá para fora, vi que ainda estavam no céu, brilhando, brancas, contra o fundo negro.
A coisa estranha é que estava mais quente. Um vento se erguera, trazendo no seu rastro nuvens, que corriam velozes no alto, e ao se dispersarem transformavam-se em fiapos, fazendo com que a sombra e a luz das estrelas se alternassem em ondas pelos campos cinzentos de geada, na paisagem silenciosa onde os cardos e a grama rígida de inverno pareciam fluir como água ou como um milharal ao vento. Não havia som no vento que soprava.
Acima dos véus esvoaçantes de nuvens as estrelas faiscavam engastadas numa abóbada negra. O calor e a minha posição, encolhido no escuro, devem ter-me feito sonhar (pensei eu) com a segurança, com Galapas e o globo de cristal onde me deitara enroscado a observar a luz. Agora o arco brilhante de estrelas sobre minha cabeça era como o teto curvo da caverna com a luz a refletir-se nos cristais, e as sombras a passarem voando, perseguidas pelo fogo. Eu via pontos vermelhos e azul-safira e uma estrela fixa que irradiava ouro. Então o vento silencioso soprou outra sombra pelo céu com a luz a segui-la, e os espinheiros estremeceram assim como a sombra da pedra aprumada.
Eu deveria ter afundado, aconchegado demais em minha cama, para ouvir o farfalhar do vento na grama e nos espinheiros. Tampouco ouvi o rapaz passando pela barreira que o porteiro recolocara, atravessada, na abertura do barranco, porque, de repente, sem aviso, ele estava lá, a silhueta alta a caminhar pelo campo, sombria e silenciosa como a brisa.
Encolhi-me, como uma lesma no caramujo. Tarde demais para correr e devolver a capa. Eu só podia esperar que ele presumisse que o ladrão fugira, e não procurasse por muito perto. Mas ele não se aproximou do galpão. Atravessava direto pelo campo, afastando-se de mim. Então eu vi, metade dentro e metade fora da sombra da pedra aprumada, o animal branco a pastar. O cavalo deveria ter-se soltado. Só os deuses sabiam o que ele encontraria para comer num campo de inverno, mas eu podia ver, fantasmagórico à distância, o animal branco pastando junto à pedra aprumada. E deveria ter sacudido a barrigueira até soltá-la; a sela também desaparecera.
Pelo menos enquanto o rapaz o apanhava, eu poderia escapulir... Ou, melhor ainda, largar a capa perto do galpão onde ele pensasse que escorregara do lombo do cavalo e voltar para o meu ninho aquecido até que ele se fosse. Só poderia culpar o porteiro pela fuga do animal; e com razão; eu não tocara na prancha que barrava a entrada. Ergui-me cauteloso, esperando minha oportunidade.
O animal que pastava erguera a cabeça à aproximação do homem. Uma nuvem passou pelas estrelas, escurecendo o campo. A luz correu pelo gelo ao encalço da sombra. Bateu na pedra vertical. Vi que estivera enganado; não era o cavalo. Nem — foi meu segundo pensamento — poderia ser um dos novilhos do galpão. Era um touro, um touro branco, maciço, adulto, com imensos chifres reais e um pescoço qual uma nuvem de tempestade. Baixou a cabeça até que a barbela roçasse o chão e escavou-o com as patas uma, duas vezes.
O rapaz parou. Via-o agora claramente, quando a sombra desapareceu. Era alto, de constituição robusta e o cabelo parecia descorado à luz das estrelas. Usava uma espécie de roupa estrangeira — calças atadas com tiras em cruz sob uma túnica presa por um cinto muito baixo nos quadris, e um barrete alto e descaído. Sob este, o cabelo claro esvoaçava-lhe pelo rosto, como raios. Trazia uma corda frouxa nas mãos, as dobras arrastando-se pelo gelo. Sua capa agitava-se ao vento; uma capa curta, de uma cor escura, que eu não conseguia distinguir.
Sua capa? Então não podia ser o meu jovem senhor. E, afinal de contas, por que viria aquele rapaz arrogante, de corda em punho, laçar um touro que se perdera durante a noite?
Sem aviso e sem ruído, o touro branco arremeteu. Luz e sombra projetaram-se com ele, estremecendo, toldando a cena. A corda rodopiou formando um laço, firmou-se. O homem saltou para um lado, quando o enorme animal passou por ele e parou derrapando, a corda esticada e o gelo erguendo-se em nuvens sob os cascos do animal.
O touro girou e arremeteu de novo. O homem esperou sem se mover, os pés plantados no chão, ligeiramente apartados, a postura indiferente, quase desdenhosa. Quando o touro se acercou dele, pareceu desviar-se ligeiramente para um lado, como um dançarino. O touro passou por ele tão perto, que eu vi um chifre rasgar a capa esvoaçante e o ombro do touro roçar a coxa do homem, como uma amante buscando carícias. As mãos dele moveram-se. A corda rodopiou formando um laço e mais outro, e envolveu os chifres reais. O homem debruçou-se sobre ele, e o animal parou outra vez, voltando-se, rápido, na própria fumaça. O homem pulou.
Não para afastar-se. Mas em direção ao touro, direto sobre o grosso pescoço, os joelhos comprimindo a barbela, as mãos firmes usando a corda como rédeas.
O touro parou de vez, as patas afastadas, a cabeça enfiada para baixo contrariando a corda com todo o peso e força. Ainda assim não produzia ruído que eu pudesse ouvir, nem de cascos, tampouco de corda partida, ou mesmo de sopro. Eu quase emergira totalmente da noite agora, imóvel, o olhar fixo, desatento a tudo, exceto à luta entre o homem e o touro.
Uma nuvem cobriu o campo de sombras. Ergui-me. Creio que pretendia apanhar a prancha e correr com ela pelo campo para oferecer a pouca ajuda que podia. Mas antes que conseguisse mover-me a nuvem fugira, deixando-me ver o touro como antes, o homem ao seu pescoço. Mas agora a cabeça do animal se erguia. O homem deixou cair a corda e as mãos agarraram os chifres do touro, puxando-os para trás... para trás... para cima... Lentamente, quase como numa rendição ritual, a cabeça do touro ergueu-se, o pescoço poderoso esticou-se para o alto, expôs-se.
Apareceu um brilho na mão direita do homem. Ele curvou-se para a frente e enterrou a faca por baixo e para o lado.
Ainda em silêncio, lentamente, o touro caiu de joelhos. Algo escuro escorria sobre o couro branco, o chão branco, a base branca da pedra.
Saí do meu esconderijo e corri pelo campo, em direção a eles, gritando alguma coisa — não faço idéia o quê. Não sei o que pretendia fazer. O homem viu-me correr e voltou cabeça e percebi que nada mais era preciso. Ele sorria, mas seu rosto, à luz das estrelas, parecia curiosamente liso e inumano na sua inexpressividade. Não distingui nenhum sinal de tensão ou esforço. Seus olhos eram vazios também, frios e escuros, não sorriam.
Tropecei, tentei parar, prendi o pé na capa que se arrastava e caí, rolando como uma trouxa, ridículo e desamparado, em direção a ele, no momento em que o touro branco, dobrando-se lentamente, caiu. Alguma coisa bateu-me no lado da cabeça. Ouvi um som agudo e infantil que era eu mesmo a gritar, e então tudo escureceu.
ALGUÉM ME ATINGIU NOVAMENTE, com força, nas costelas. Gemi e rolei pelo chão, tentando escapar, mas a capa me tolhia os movimentos. Um archote cheirando a fumaça foi abaixado, quase a tocar-me o rosto. Aquela voz jovem, conhecida, disse furiosa:
— Minha capa, meu Deus! Agarre-o depressa. Com os diabos, se vou tocar nele, está imundo!
Estavam todos à minha volta, os pés sapateando no gelo, as tochas ardendo, vozes de homem, curiosas ou zangadas ou indiferentemente divertidas. Alguns montados, seus cavalos atropelando-se na periferia do grupo, escoiceando, desassossegados, com o frio.
Encolhi-me, piscando. Minha cabeça doía e a cena confusa flutuava irreal, aos bocados, como se a realidade e o sonho se interrompessem e se entremeassem para romper com meu equilíbrio. Fogo, vozes, o balanço do navio, o touro branco caindo...
Uma mão arrancou-me a capa. Pedaços do saco apodrecido foram com ela, deixando-me o ombro e o lado despidos até a cintura. Alguém me agarrou pelo pulso, erguendo-me com violência e imobilizando-me. A outra mão apanhou-me pelos cabelos e puxou-me o rosto para cima para encarar o homem que se agigantava. Era alto, jovem, o cabelo castanho-claro parecendo vermelho à luz da tocha, e uma barba elegante a emoldurar-lhe o queixo. Os olhos eram azuis e pareciam zangados. Estava sem capa. Trazia um chicote na mão esquerda.
Encarou-me, emitindo um som de aborrecimento.
— Um pirralho, mendigo, e além do mais fedorento. Terei que queimar a capa, suponho. Vou arrancar-lhe o couro por isso, seu vermezinho desgraçado. Penso também que ia roubar-me o cavalo, não?
— Não, senhor. Juro que era apenas a capa. E a teria devolvido, juro.
— E o broche também?
— Broche?
O homem que me segurava disse:
— O broche ainda está na capa, my lord.
Eu me interpus rapidamente:
— Só a tomei de empréstimo, para aquecer-me... estava tão frio, de modo que eu...
— Simplesmente despiu meu cavalo e deixou-o resfriar-se? É isso?
— Não pensei que fosse fazer-lhe mal, senhor. Estava aquecido no galpão. Eu a teria devolvido, pode crer.
— Para que eu a usasse a seguir, seu rato fedorento? Deveria cortar-lhe a garganta por isso.
Alguém — um dos homens montados — disse:
— Oh, deixe isso para lá. Não aconteceu mal algum, a não ser que sua capa terá que ir para o lixo, amanhã. O desgraçado do menino está seminu, e está frio bastante para congelar uma salamandra. Deixe-o ir-se.
— Ao menos — disse o jovem oficial, entre dentes — me aquecerá se eu lhe aplicar uma surra. Ah, não, você não vai embora...
Segure-o firme, Cadal.
O chicote assoviou ao subir. O homem que me prendia apertou-me mais à medida que eu lutava para livrar-me, mas antes que o chicote baixasse uma sombra adiantou-se à luz da tocha e uma mão desceu suave, não mais que um toque, sobre o pulso do rapaz.
Alguém disse: — O que se passa?
Os homens ficaram silenciosos como se tivessem recebido uma ordem. O rapaz deixou cair o chicote para o lado e voltou-se.
O aperto do meu captor afrouxou ao ouvir o recém-chegado e eu soltei-me com uma contorção. E poderia provavelmente ter corrido agachado por entre homens e cavalos e fugir, embora eu achasse que um homem a cavalo me apanharia em questão de segundos. Mas não tentei fugir. Tinha os olhos arregalados.
O recém-chegado era alto, meia cabeça mais alto que o meu jovem oficial sem capa. Interpusera-se ao archote e não pude vê-lo muito bem contra as chamas. Os clarões ainda flutuavam nublados e ofuscantes; minha cabeça doía e o frio assaltou-me novamente, como uma fera cheia de dentes. Tudo o que vi foi a silhueta alta e sombreada observando-me, olhos escuros num rosto inexpressivo.
Tomei ar como se ofegasse.
— Era o senhor! O senhor me viu, não viu? Eu ia ajudá-lo, só que tropecei e caí. Eu não estava fugindo — diga-lhe isso, por favor, my lord. Eu pretendia devolver a capa antes que ele viesse buscá-la. Conte-lhe o que aconteceu!
— De que está falando? Conte-lhe o quê?
Pisquei, na claridade das tochas.
— O que acabou de acontecer. Foi... Foi o senhor que matou o touro?
— Que... o quê?
Tudo estivera quieto antes, mas agora havia um silêncio total, salvo pela respiração dos homens que se acercavam de mim, e o desassossego dos cavalos.
O jovem oficial perguntou, áspero:
— Que touro?
— O touro branco — respondi. — Ele cortou a garganta do touro e o sangue esguichou como uma fonte. Foi assim que sujei a capa. Eu estava tentando...
— Com os diabos, como soube do touro? Onde estava? Quem andou falando?
— Ninguém — respondi, surpreso. — Eu vi tudo. É tão secreto assim? Pensei que estivesse sonhando, a princípio. Fiquei sonolento depois do pão com vinho...
— Pela luz! — Era ainda o jovem oficial, mas agora os outros exclamavam juntos, a raiva explodindo ao meu redor. — Mate-o e acabe com isso... Ele está mentindo... Mentindo para salvar a maldita pele... Deve ter andado a espionar...
O homem alto não falara. Nem tirara os olhos de mim. De alguma parte do meu íntimo, a raiva assaltou-me e eu explodi veemente, direto para ele:
— Não sou espião, nem ladrão! Estou cansado disso! Que deveria fazer, morrer congelado para poupar a vida de um cavalo?
— O homem às minhas costas pousou a mão no meu braço, mas eu o sacudi com um gesto que o meu próprio avô poderia ter feito.
— Nem sou mendigo, my lord. Sou um homem livre que veio colocar-se a serviço de Ambrosius, se ele me aceitar. Foi para isso que vim, do meu próprio país, e foi... foi um acidente a perda das roupas. Eu... eu posso ser jovem, mas tenho certo conhecimento que é valioso e falo cinco línguas... — Minha voz fraquejou.
Alguém emitiu um som abafado como uma risada. Firmei os dentes que chocalhavam e acrescentei com realeza: — Peço-lhes apenas que me acolham agora, my lord, e digam-me onde posso encontrá-lo amanhã de manhã.
Desta vez o silêncio foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Ouvi o jovem oficial tomar fôlego para falar, mas o outro ergueu a mão. Ele deveria, pela maneira como o acatavam, ser o comandante.
— Espere. Ele não está sendo insolente. Olhe para ele. Levante a tocha mais alto, Lucius. Ora, como é o seu nome?
— Myrddin, senhor.
— Bem, Myrddin, vou escutá-lo, mas fale simples e rápido. Quero ouvir essa história do touro. Comece pelo princípio. Você viu meu irmão guardar o cavalo naquele galpão, e tirou a capa para aquecer-se. Continue daí.
— Sim, my lord — disse eu. — Tirei a comida da mochila também e vinho...
— Você estava falando do meu pão e vinho? — perguntou o jovem oficial.
— Sim, senhor. Desculpe, mas quase não comia há quatro dias...
— Não importa isso — disse o comandante, seco. — Continue.
— Escondi-me no monte de galhos a um canto do galpão, e creio que adormeci. Quando acordei, vi o touro, junto à pedra aprumada. Ele pastava ali, muito quieto. Então o senhor veio com a corda. O touro arremeteu e o senhor laçou-o e montou-lhe no lombo, puxou-lhe a cabeça para cima e matou-o com uma faca. Havia sangue por toda parte. Eu estava correndo para ajudar. Não sei o que poderia ter feito, mas corri, do mesmo jeito. Então tropecei na capa e caí. É só.
Parei. Um cavalo bateu com os cascos, e um homem pigarreou. Ninguém falou. Pensei que Cadal, o criado que me segurava, se tivesse afastado mais um pouquinho.
O comandante perguntou, muito suave:
— Junto à pedra aprumada?
— Sim, senhor. .
Ele virou a cabeça. O grupo de homens e cavalos estava muito próximo à pedra. Eu podia vê-la por cima dos ombros dos cavaleiros projetando-se para o céu da noite à luz dos archotes.
— Afastem-se e deixem-no ver — disse o homem alto e alguns deles abriram passagem.
A pedra encontrava-se a cerca de nove metros de distância. Junto à sua base, a relva gelada parecia pisoteada por botas e cascos, mas nada mais. Onde eu vira o touro branco cair, com o sangue preto a esguichar-lhe da garganta, nada havia senão gelo revolvido e a sombra da pedra.
O homem que segurava a tocha movera-a para iluminar a pedra. A luz incidia diretamente sobre o meu inquisidor e pela primeira vez pude vê-lo claramente. Não era tão jovem quanto pensara; havia linhas no seu rosto e o cenho estava franzido. Os olhos eram negros, não azuis como os do irmão e era mais corpulento do que eu imaginara. Havia um brilho de ouro nos seus punhos e na gola, e uma capa pesada caía-lhe, em linha reta e longa, dos ombros aos calcanhares.
Eu disse gaguejando:
— Não era o' senhor. Desculpe... vejo agora. Devo ter sonhado. Ninguém sairia com uma corda e uma faca curta sozinho para enfrentar um touro... E ninguém poderia levantar a cabeça de um touro e cortar-lhe a garganta... Foi uma das minhas... foi um sonho. E não era o senhor, posso ver agora. Eu... eu pensei que era o homem com o barrete. Desculpe.
Os homens murmuravam agora, mas já sem ameaças. O jovem oficial disse, num tom bem diferente do que usara até então:
— Como era ele, o homem com o barrete?
Seu irmão disse, rápido:
— Não importa. Não agora. — Estendeu uma mão, segurou-me o queixo, erguendo meu rosto. — Você diz que seu nome é Myrddin? De onde vem?
— De Gales, senhor.
— Ah! Então você é o menino que trouxeram de Maridunum?
— Sou. O senhor sabia? Oh! — Entorpecido pelo frio e pelo espanto, fiz a descoberta que deveria ter feito há mais tempo. Minha pele tremia como a de um pônei enervado com o frio, numa sensação curiosa, parte excitação, parte medo. — O senhor deve ser o Conde. Deve ser o próprio Ambrosius.
Ele não se dignou responder-me.
— Que idade tem?
— Doze, senhor.
— E quem é você, Myrddin, para falar em oferecer-me seus serviços? Que me pode oferecer, que me impeça de liquidá-lo aqui f agora, e deixar esses senhores saírem do frio?
— Quem sou não faz diferença, senhor. Sou o neto do Rei de Gales do Sul, mas ele está morto. Meu tio Camlach é o rei agora, mas isto não me serve de nada, tampouco; ele me quer morto. Assim, não lhe serviria nem como refém. Não é quem sou, mas o que sou que importa. Tenho algo a oferecer-lhe, my lord. O senhor verá se me deixar viver até amanhã.
— Ah, sim, informação valiosa e cinco línguas. E sonhos também, parece. — As palavras eram de troça, mas ele não sorria. — O neto do velho Rei, diz você? E Camlach não é seu pai? Nem Dyved tampouco, com certeza. Nunca soube que o velho tivesse algum neto além do bebê de Camlach. Pelo que meus espiões informaram, pensei que fosse um bastardo do Rei.
— Ele costumava às vezes fazer-me passar por seu próprio bastardo — para poupar a vergonha de minha mãe, dizia ele, mas minha mãe nunca encarou isso como uma vergonha, e ela devia saber. Minha mãe é Niniane, a filha do velho Rei.
— Ah! - Pausa. - É?
Respondi:
— Ela ainda vive, mas está agora no convento de São Pedro.
Poderia dizer-se que faz parte dele há anos, mas só teve permissão para deixar o palácio quando o velho Rei morreu.
— E seu pai?
— Ela nunca falou nele, para mim ou para qualquer outra pessoa. Dizem que era o Príncipe das Trevas.
Esperei a reação costumeira, os dedos cruzados ou um olhar rápido por cima do ombro. Ele não fez nada disso. Riu-se.
— Então não admira que você fale em ajudar reis a conquistar reinos e sonhe com deuses, sob as estrelas. — Voltou-se para um lado, fazendo revoar a grande capa. — Traga-o conosco, um de vocês. Uther, é melhor você devolver-lhe a capa, antes que morra diante dos nossos olhos.
— Você acha que eu tocaria na capa depois que ele a usou, mesmo que fosse o Príncipe das Trevas em pessoa? — perguntou Uther.
Ambrosius riu.
— Se você cavalga o coitado do seu cavalo da forma habitual, ele estará bastante aquecido sem capa. E se ela está manchada com o sangue do touro, então não é para você esta noite, não é?
— Está blasfemando?
— Eu? — exclamou Ambrosius com uma espécie de frieza inexpressiva.
Seu irmão abriu a boca, pensou melhor, deu de ombros e pulou para a sela do cavalo cinzento. Alguém me atirou a capa e — enquanto lutava com as mãos trêmulas para embrulhar-me — apanhou-me enrolado de qualquer maneira, e afinal arremessou-me como um embrulho para um cavaleiro que fazia meia volta. Ambrosius montou num grande cavalo preto.
_ Vamos, senhores.
O potro preto arremessou-se para a frente e a capa de Ambrosius voou. O cinzento seguiu atrás dele. O resto dos cavaleiros enfileirou-se a galope pela trilha, de volta à cidade.
O QUARTEL-GENERAL de Ambrosius ficava na cidade. Soube depois que esta última, na realidade, crescera em torno do campo onde Ambrosius e seu irmão haviam começado, nos últimos dois anos, a reunir e treinar um exército, que por tanto tempo constituíra ameaça lendária a Vortigern e agora, com a ajuda do rei Budec e tropas de metade dos países da Gália, tornava-se um fato. Budec era rei da Bretanha Menor e primo de Ambrosius e Uther. Fora ele quem acolhera os dois irmãos, vinte anos atrás, quando ambos — Ambrosius, então com dez anos e Uther, ainda nos braços da ama — foram levados para a segurança do além-mar, após Vortigern ter assassinado o irmão mais velho, o Rei. O próprio castelo de Budec ficava a uma distância mínima do campo que Ambrosius construíra; e em torno dos dois baluartes crescera a cidade, uma coleção variada de casas, lojas e barracos com uma muralha e um fosso de proteção em volta. Budec estava velho agora, e fizera de Ambrosius seu herdeiro, assim como "Comes" ou Conde de suas forças. Supunha-se no passado que os irmãos se satisfariam em permanecer na Bretanha Menor e em governá-la após a morte de Budec; mas, agora que enfraquecia o domínio de Vortigern sobre a Bretanha Maior, dinheiro e homens acorriam e era um segredo conhecido que Ambrosius tinha o olho na Bretanha do Sul e do Oeste para si mesmo, enquanto Uther — já aos vinte anos um soldado excepcional — ficaria, esperava-se, com a Bretanha Menor, e assim, pelo menos por mais uma geração, estabeleceriam entre os dois reinos uma muralha romano-céltica contra os bárbaros do Norte.
Logo descobri que, sob um aspecto, Ambrosius era puramente romano. A primeira coisa que me aconteceu ao ser depositado com capa e tudo no portal do vestíbulo externo foi ser apanhado, desembrulhado e, já então, exausto demais para protestar ou perguntar, metido numa banheira. O sistema de aquecimento sem dúvida alguma funcionava ali; a água fumegante descongelou-me o corpo em três dolorosos e arrebatadores segundos. O homem que me trouxera para casa — Cadal, um dos criados pessoais do Conde — disse-me secamente, enquanto me esfregava, untava de óleo e me enxugava e a seguir me fazia vestir uma túnica limpa de lã branca duas vezes o meu tamanho:
— Só para garantir que não fuja outra vez. Ele quer falar com você, não me pergunte por quê. Não pode usar suas sandálias nesta casa, só Dia sabe onde andou com elas. Ou antes, é evidente onde andou; vacas, não foi? Pode ficar descalço, o assoalho é aquecido. Bem, pelo menos está limpo agora. Tem fome?
— Está tentando ser engraçado?
— Venha, então. A cozinha é por aqui. A não ser que, sendo o neto bastardo do Rei, ou o que quer que você lhe tenha informado, seja orgulhoso demais para comer na cozinha.
— Só por está vez — respondi — não me importarei.
Ele me deu uma olhada, franziu a testa e riu.
— Você tem coragem, justiça seja feita. Enfrentou-os de pé. O que me admira é como pensou em tudo aquilo tão rápido. Deixou-os bem desnorteados. Eu não daria dois alfinetes pela sua sorte uma vez que Uther pusesse as mãos em você. De qualquer modo, conseguiu uma audiência.
— Mas foi verdade.
— Oh, claro, claro. Bem, pode contar-lhe outra vez num minuto, e faça com que valha a pena, porque ele não gosta de gente que o faz perder tempo, sabe?
— Hoje à noite?
— Certamente. Você vai descobrir isso se viver até amanhã; ele não perde muito tempo dormindo. Tampouco o Príncipe Uther, quanto a isso, mas Uther não está propriamente trabalhando. Não nos seus papéis, quer dizer, embora achem que ele se esforça exageradamente noutros setores. Venha.
Alguns metros antes de chegarmos à porta da cozinha o cheiro de comida quente veio ao nosso encontro e com ele o chiado das frituras.
A cozinha era um cômodo espaçoso e parecia, aos meus olhos, tão grandiosa como a sala de jantar de casa, o piso era de ladrilhos lisos e vermelhos, havia uma lareira elevada em cada extremidade da sala e, ao longo das paredes, tábuas de corte com odres de óleo e vinho embaixo e prateleiras de pratos acima. Numa das lareiras um menino de olhos sonolentos esquentava óleo numa frigideira; acendera carvões novos nos queimadores e num destes fervia um caldeirão de sopa, enquanto as salsichas assavam e estalavam numa grelha e eu sentia o cheiro de galinha a fritar. Reparei que, apesar da descrença de Cadal na minha história, haviam-me reservado um prato de louça de Samia tão fina que devia ser o mesmo usado na própria mesa do Conde, e o vinho veio numa taça de vidro servida de um jarro de esmalte vermelho com um selo gravado em relevo e uma etiqueta "Reserva". Havia até um fino guardanapo branco. O menino-cozinheiro, que devia ter sido acordado para preparar-me a refeição, mal se deu ao incômodo de olhar para quem trabalhava; depois de servida a refeição, raspou os queimadores, rapidamente, deixando-os limpos para o dia seguinte, fez um trabalho ainda mais sumário na limpeza das panelas e, com i^m olhar para Cadal a pedir-lhe permissão, voltou bocejando para a cama. Cadal serviu-me, ele próprio, e até trouxe pão fresco da padaria, onde a primeira fornada da manhã acabara de sair. A sopa era uma mistura condimentada de mariscos, que se tomava quase diariamente na Bretanha Menor. Fumegante e deliciosa, fez-me pensar que nunca comera nada tão gostoso, até que experimentei a galinha torradinha em óleo e as salsichas grelhadas, tostadas e intumescidas de carne picante e cebolas. Limpei o prato com o pão fresco e sacudi a cabeça quando Cadal me passou uma bandeja com tâmaras secas, queijo e pães de mel.
— Não, muito obrigado.
— Satisfeito?
— Oh, sim. — Afastei o prato. — Esta foi a melhor refeição que já comi na minha vida. Muito obrigado.
— Bem, — comentou ele, — a fome é o melhor tempero, dizem, embora eu concorde em que a comida aqui é boa. — Trouxe-me água fresca e uma toalha e esperou enquanto eu lavava e enxugava as mãos. — Bem, talvez eu até dê crédito ao resto da sua história, agora.
Ergui os olhos.
— O que quer dizer?
— Você não aprendeu esses modos na cozinha, disso tenho certeza. Pronto? Vamos, então, ele mandou-me interrompê-lo, mesmo que ele estivesse trabalhando.
Ambrosius, no entanto, não estava trabalhando quando chegamos ao seu quarto. Sua mesa — um móvel enorme de mármore da Itália — estava juncada de rolos e mapas e material de escrita e o Conde sentava-se numa grande cadeira, meio de lado, o queixo apoiado nos punhos, contemplando o braseiro que enchia o quarto de calor e de um leve perfume de macieira.
Não levantou a cabeça quando Cadal falou ao sentinela e com um entrechocar de armas este último deixou-me entrar.
— O menino, senhor. — Esta não era a voz que Cadal usara comigo.
— Muito obrigado. Pode ir dormir, Cadal.
— Senhor...
Ele foi-se. As cortinas de couro cerraram-se à sua passagem. Ambrosius virou a cabeça, então. Contemplou-me de alto a baixo por alguns minutos, em silêncio. Então acenou na direção de um banquinho.
— Sente-se.
Obedeci.
— Vejo que encontraram alguma coisa para você vestir. Deram-lhe de comer?
— Sim, muito obrigado, senhor.
— E está bastante aquecido, agora? Puxe o banquinho para mais perto do fogo, se quiser.
Endireitou-se na cadeira e recostou-se, as mãos descansando nas cabeças de leão esculpidas nos braços. Havia uma lâmpada na mesa entre nós, e à luz brilhante e firme qualquer semelhança entre o Conde Ambrosius e o estranho do meu sonho desapareceu completamente.
É difícil agora, recordando uma época tão distante, lembrar-me da minha primeira impressão real de Ambrosius. Ele teria naquele tempo pouco mais de trinta anos, mas eu estava com doze e para mim, naturalmente, ele já parecia um venerável ancião. Mas creio que de fato parecesse mais velho do que era, como resultado natural da vida que levava e da pesada responsabilidade que carregava desde que era mais novo que eu. Havia rugas em torno dos seus olhos, e duas rugas pronunciadas entre as sobrancelhas, que aparentavam decisão e talvez mau gênio; sua boca era dura e reta e habitualmente séria. As sobrancelhas, escuras como os cabelos, conseguiam sombrear-lhe o olhar. O traço branco quase imperceptível de uma cicatriz corria da orelha esquerda até à metade da maçã do rosto. O nariz parecia romano, a ponte alta, proeminente, mas a pele era bronzeada ao invés de cor de oliva, e havia alguma coisa nos seus olhos que fazia pensar num celta moreno e não num romano. Era um rosto desanimado, um rosto (como eu iria descobrir) que poderia toldar-se de frustração ou ira, apesar do rígido controle que exercia sobre esses sentimentos, mas um rosto que inspirava confiança. Não era um homem que se pudesse amar com facilidade, certamente não um homem de quem se gostasse, mas um homem para se odiar ou venerar. Para ser combatido ou seguido. Uma coisa ou outra: uma vez que a pessoa se aproximasse dele, não tinha mais paz.
Tudo isso precisei aprender. Quase não me lembro do que pensei dele, exceto pelos olhos profundos que me olhavam do outro lado da luz e das mãos apoiadas nas cabeças do leão. Mas lembro-me de cada palavra pronunciada.
Ele mediu-me de alto a baixo. — Myrddin, filho de Niniane, filha do rei de Gales do Sul... E conhecedor profundo, dizem-me, dos segredos do palácio de Maridunum?
— Eu... disse isso? Contei-lhes que morava lá e ouvia coisas às vezes.
— Meus homens trouxeram-no, atravessando o Mar Estreito, porque você disse que possuía segredos que me poderiam ser úteis.
Não foi verdade?
— Senhor — disse eu, um tanto desesperado — não sei o que poderia ser-lhe útil A eles falei uma linguagem que pensei entenderem. Julguei que iam matar-me. Procurava salvar minha vida.
— Sei. Bem, agora você está aqui a salvo. Por que saiu de casa?
— Porque, uma vez que meu avô morrera, já não era seguro que eu lá permanecesse. Minha mãe pretendia entrar para um convento e Camlach, meu tio, tentara matar-me e seus criados mataram meu amigo.
— Seu amigo?
— Meu criado. Seu nome era Cerdic. Era um escravo.
— Ah, sei! Contaram-me isso. Disseram-me que você ateou fogo ao palácio. Não foi talvez um pouco... drástico?
— Suponho que sim. Mas alguém tinha que fazer-lhe as honras. Ele era meu.
Suas sobrancelhas ergueram-se.
— Você apresenta isso como uma razão, ou uma obrigação?
— Senhor? — Refleti e então respondi lentamente: — Ambas, creio eu.
Ele contemplou as mãos. Retirara-as dos braços da cadeira e cruzara-as à sua frente sobre a mesa.
— Sua mãe, a princesa. — Ele disse isso como se o pensamento tivesse ocorrido diretamente do que estivéramos a falar: — Eles fizeram mal a ela também?
— Naturalmente que não!
Ele levantou os olhos com o meu tom de voz. Expliquei rapidamente.
— Sinto muito, my lord, só quis dizer que, se eles fossem fazer mal a ela, como poderia eu partir? Não, Camlach nunca a tocaria. Já lhe contei que ela há anos falava em querer ir para o convento de São Pedro. Não consigo nem lembrar-me de ocasião em que ela não estivesse recebendo padres cristãos em visita a Maridunum, e o próprio bispo, quando vinha de Caerleon, costumava hospedar-se no palácio. Mas meu avô nunca a deixaria partir. Ele e o bispo costumavam discutir a respeito dela — e a meu respeito... O bispo queria que eu me batizasse, sabe, e meu avô não queria nem ouvir falar nisso. Eu... eu acho que talvez guardasse isso como um suborno para minha mãe, para que ela confessasse quem era meu pai, ou talvez para que consentisse em casar com alguém da escolha dele, mas ela nunca consentiu, nem lhe revelou coisa alguma. _ Fiz uma pausa imaginando se não estaria falando demais, mas ele me observava firme e parecia muito atento. — Meu avô jurou que ela nunca entraria para a Igreja — acrescentei — mas, assim que morreu, ela pediu a Camlach, que lhe deu consentimento. Ele me teria trancafiado também, de modo que fugi. Ele assentiu.
— Aonde pretendia ir?
— Eu não sabia. Era verdade, o que Marric me disse no barco, que eu teria de recorrer a alguém. Tenho apenas doze anos e, como não posso ser senhor de mim mesmo, precisaria encontrar um amo. Eu não queria Vortigern, nem Vortimer, e não sabia para onde ir.
— Então persuadiu Marric e Hanno a deixarem-no vivo e trazerem-no a mim?
— Não de todo — respondi com franqueza. — Eu não sabia a princípio para onde iam, apenas disse a primeira coisa que me veio à cabeça para salvar-me. Eu me entregara nas mãos do deus, e ele me pôs no caminho dos dois e lá estava o navio. Então fiz com que me trouxessem até aqui.
— A mim?
Assenti. O braseiro tremeluzia, fazendo as sombras dançarem. Uma sombra deslocou-se no seu rosto como se ele sorrisse.
— Então por que não esperou que eles fizessem isso? Para que fugir do navio, arriscando-se a morrer de frio num campo gelado?
— Porque tive receio de que afinal não pretendessem trazer-me. Pensei que poderiam ter percebido a... a pouca serventia que eu teria para o senhor.
— Então desembarcou sozinho no meio de uma noite de inverno, num país estranho, e o deus atirou-o direitinho aos meus pés. Você e o deus juntos, Myrddin, formam uma aliança bastante poderosa. Vejo que não tenho escolha.
— My lord?
— Talvez você tenha razão, e haja maneiras de me servir. — Baixou os olhos para a mesa outra vez, apanhou uma pena e girou-a nas mãos como se a examinasse. — Mas diga-me primeiro por que lhe deram o nome de Myrddin? Você diz que sua mãe nunca lhe contou quem era seu pai? Nunca sequer insinuou? Será que lhe teria dado o nome dele?
— Não me chamando de Myrddin, senhor. Este é um dos deuses antigos — há um santuário perto do portão de São Pedro. É o deus da montanha próxima e dizem que de outras partes além de Gales do Sul. Mas tenho outro nome. — Hesitei. — Nunca disse isto a ninguém, mas tenho certeza de que é o nome do meu pai.
— E qual é?
— Emrys. Ouvi-a falar com ele certa vez, à noite, anos atrás, quando era muito pequeno. Nunca esqueci. Havia algo na sua voz. Podia-se perceber.
A pena imobilizou-se. Ele encarou-me com as sobrancelhas arqueadas.
— Falando com ele? Então havia alguém no palácio?
— Oh, não, não foi assim. Não era real.
— Você quer dizer que era um sonho? Uma visão? Como a de hoje à noite com o touro?
— Não, senhor. E não chamaria isso de sonho, tampouco — era real, de um modo diferente. Tenho isso às vezes. Mas da vez que ouvi minha mãe... Havia um velho hipocausto no palácio que estava fora de uso há muitos anos; eles o aterraram posteriormente, mas quando eu era criança — quando eu era pequenino — costumava esgueirar-me por ali para fugir das pessoas. Guardava coisas lá... a espécie de coisas que se guardam quando se é pequeno, e que se os adultos encontram, atiram tudo fora.
— Eu sei. Continue.
— Sabe? Eu... bem, costumava esgueirar-me pelo hipocausto e uma noite estava sob a alcova de minha mãe, e ouvi-a falar sozinha, alto, como se faz às vezes, quando se reza. Ouvi-a dizer "Emrys", mas não me lembro do resto. — Olhei para ele. Sabe quando a gente apanha o próprio nome mesmo quando não consegue ouvir muito mais? Pensei que estivesse rezando por mim, mas quando fiquei mais velho e me lembrei, ocorreu-me que aquele '"Emrys" devia ser meu pai. Havia alguma coisa na voz dela... e, de qualquer maneira, ela nunca me chamava assim; chamava-me de Merlin.
— Por quê?
— Por causa do falcão. É um dos nomes do cornwalch.
— Então vou chamá-lo de Merlin, também. É corajoso e parece e tem olhos que podem ver a grandes distâncias. Poderei precisar is seus olhos algum dia. Mas esta noite, pode começar pelas coisas mais simples. Você vai-me falar sobre sua casa. Bem, o que é?
— Se é que vou servi-lo... Naturalmente contar-lhe-ei tudo o que sei... Mas... — Hesitei e ele tomou-me as palavras da boca.
— Mas precisa ter a minha promessa de que, quando eu invadir a Bretanha, nenhum mal advirá a sua mãe? Você a tem. Ela estará segura, assim como qualquer outro homem ou mulher que você me peça para poupar por terem sido bondosos consigo.
Eu devia estar com os olhos arregalados.
— O senhor é... muito generoso.
— Se eu conquistar a Bretanha, posso permitir-me sê-lo. Eu deveria talvez ter feito algumas exceções. — Sorriu. — Poderá ser difícil se você quiser uma anistia para seu tio Camlach.
— Não acontecerá — respondi. — Quando o senhor tomar a Bretanha, ele estará morto.
Silêncio. Seus lábios entreabriram-se para dizer alguma coisa, mas acho que mudou de idéia.
— Eu disse que poderia usar seus olhos algum dia. Agora, você já tem a minha promessa, portanto vamos conversar. Não se preocupe se as coisas não lhe parecerem suficientemente importantes para contar-me. Deixe-me ser o juiz.
Assim, conversamos. Não me pareceu estranho, então, que ele me falasse como a um igual, nem que passasse metade da noite comigo fazendo-me perguntas que em parte seus espiões poderiam ter respondido. Creio que duas vezes, enquanto falávamos, um escravo entrou silenciosamente para reabastecer o braseiro e uma vez ouvi um entrechocar de armas e uma ordem da guarda sendo mudada do lado de fora da porta. Ambrosius interrogava, induzia, escutava, às vezes escrevendo numa tabuinha à sua frente, às vezes olhando-me fixamente, o queixo apoiado nas mãos sobre a mesa, mas, mais freqüentemente, observando-me com aquele olhar firme e sombreado. Quando eu hesitava ou me perdia em alguma coisa irrelevante, ou vacilava de pura fadiga, ele estimulava-me com suas perguntas visando a algum fim indefinido como um arrieiro incitando uma mula.
— Essa fortaleza no rio Seint, onde seu avô se encontrou com Vortigern. A que distância ao norte de Caerleon? Por qual estrada? Fale-me sobre a estrada... Como se chega à fortaleza do lado do mar?
E:
— A torre onde o Suserano hospedou-se, Torre Maximus — Macsen, como se chama... Fale-me dela. Quantos homens estavam abrigados lá? Que estrada há para o porto...?
Ou:
— Você diz que a comitiva do rei parou na garganta de um vale, ao sul do Monte Snow e os reis afastaram-se juntos. O seu escravo Cerdic disse que eles estavam examinando uma velha fortaleza no penhasco. Descreva o lugar... A altura do penhasco? Do topo que distância se veria para o norte... para o sul... para leste?
Ou ainda:
— Agora pense nos nobres do seu avô. Quantos serão leais a Camlach? Seus nomes? Quantos homens? E dos seus aliados, quem? Efetivos... força.
E então, subitamente:
— Agora responda-me: Como soube que Camlach ia juntar-se a Vortimer?
— Porque ele próprio o disse à minha mãe, junto do leito de morte do meu avô. Eu o ouvi. Havia rumores de que isto aconteceria e eu sabia que ele discutira com meu avô, mas ninguém sabia nada ao certo. Até minha mãe apenas suspeitava das suas intenções.
Mas, assim que o rei morreu, ele contou-lhe.
— E anunciou isso imediatamente? Então como é que Hanno e Marric nada ouviram além dos boatos da briga?
A fadiga e o longo questionário incessante tornaram-me imprudente. Eu disse sem pensar:
— Ele não anunciou. Contou apenas a ela. Estava a sós com ela.
— Afora você? — Sua voz mudou, fazendo-me saltar no banquinho. Observava-me com o cenho franzido. — Pensei que você me tivesse dito que o hipocausto fora aterrado?
Eu fiquei ali sentado, olhando-o. Não conseguia pensar em nada para dizer.
— Parece estranho... não? — disse ele, impassível — que ele contasse isso a sua mãe na sua frente quando devia saber que você era inimigo dele? Quando os homens dele tinham acabado de matar seu criado? E então, depois de ter-lhe contado os planos secretos, como saiu do palácio para as mãos dos meus homens, "fazendo" com que eles o trouxessem a mim?
— Eu... — Gaguejei — My lord, o senhor não pode pensar que eu... my lord, eu lhe disse que não era espião. Eu... tudo que lhe contei é verdade. Ele declarou isso, juro.
— Tenha cuidado. Faz diferença se isto é verdade. Sua mãe lhe contou?
— Não.
— Conversa de escravos, então? É só o que é?
Exclamei, desesperado:
— Eu próprio ouvi-o declarar.
— Então onde estava você?
Meus olhos encontraram os dele. Sem perceber bem por quê, disse-lhe a pura verdade.
— My lord, eu estava adormecido nas montanhas, a seis milhas de distância.
Fez-se silêncio, o mais longo até então. Eu podia ouvir as brasas assentando no braseiro e à distância, lá fora, um cachorro latindo. Fiquei sentado esperando sua explosão.
— Merlin.
Ergui os olhos.
— De onde lhe vem essa Vidência? De sua mãe?
Contra todas as expectativas, ele me acreditara. Respondi, ansioso:
— É, mas é diferente. Ela só via coisas de mulher, coisas de amor. Então começou a temer o poder e deixou isso de lado.
— E você tem medo?
— Eu serei um homem.
— E um homem toma o poder onde este se lhe oferece. Sim. Você compreendeu o que viu esta noite?
— O touro? Não, my lord, só que era alguma coisa secreta.
— Bem, você saberá um dia, mas não agora. Ouça.
Algures um galo cantou, agudo e argentino como uma trompa. Ele disse:
— Isto de alguma forma o reconcilia com seus fantasmas. Já era tempo de estar dormindo. Você parece semimorto por falta de sono. — Pôs-se de pé. Escorreguei lentamente do banco e ele ficou um momento a contemplar-me. — Eu tinha dez anos quando vim de barco para a Bretanha Menor e senti-me enjoado a viagem inteira.
— Eu também — respondi.
Ele riu.
— Então deverá estar tão exausto quanto eu fiquei. Depois que tiver descansado, decidiremos o que fazer com você. — Tocou uma campainha e um escravo abriu a porta e pôs-se de lado, esperando. — Você dormirá no meu quarto esta noite. Por aqui.
O quarto de dormir era romano também. Eu iria descobrir que, comparado, digamos, ao de Uther, era bastante austero, mas aos olhos de um menino acostumado a padrões provincianos, e freqüentemente improvisados, de um pequeno país distante, parecia luxuoso, com uma grande cama coberta de mantas de lã púrpura, um tapete de peles, couros de carneiro pelo chão, e um tripé de bronze da altura de um homem onde lâmpadas triplas esculpidas como pequenos dragões expeliam línguas de fogo. Grossas cortinas castanhas vedavam a noite gelada e tudo estava quieto.
Ao seguir Ambrosius e o escravo e passar pelos guardas para entrar — havia dois na porta, empertigados e imóveis, exceto pelos olhos que se voltaram, cuidadosamente vazios de especulação, de Ambrosius para mim — ocorreu-me pela primeira vez perguntar-me se ele seria talvez romano em outras coisas.
Mas ele apenas apontou para o arco onde outra cortina castanha ocultava, em partes, um recesso com uma cama. Supus que um escravo dormisse ali de vez em quando, atento ao seu chamado.
O criado afastou a cortina e mostrou-me os cobertores dobrados sobre o colchão e os bons travesseiros feitos de aparas de lã, e então deixou-me, para atender Ambrosius.
Despi minha túnica emprestada e dobrei-a cuidadosamente. Os cobertores eram grossos, de lã nova, e cheiravam a cedro. Ambrosius e o escravo falavam, mas baixinho, e suas vozes chegavam-me como ecos dos confins de uma gruta profunda e silenciosa. Já era uma felicidade estar numa cama verdadeira outra vez, e deitar-me aquecido e alimentado num lugar distante, até mesmo do som do mar. E seguro.
Creio que ele disse "Boa noite" mas eu já estava mergulhado no sono e não poderia arrastar-me à superfície para responder. A última coisa de que me lembro é do escravo movendo-se de mansinho para apagar as lâmpadas.
ACORDEI TARDE na manhã seguinte. As cortinas tinham sido afastadas, deixando entrever um dia cinzento e invernoso, e a cama de Ambrosius encontrava-se vazia. Pela janela vi um pequeno pátio, onde uma colunata emoldurava um jardim quadrado; ao centro uma fonte corria silenciosa, pensei eu, até perceber que ela se transformara em gelo sólido.
Os ladrilhos do piso transmitiam calor aos meus pés frios. Estendi o braço para a túnica branca que deixara dobrada no banquinho junto à cama, mas vi que em seu lugar alguém pusera uma nova, de um verde-escuro como os teixos, que me assentava melhor. Encontrei também um bom cinto de couro para combinar e um par de sandálias novas para substituir as velhas. Havia até uma capa, verde-claro como as bétulas, e um broche de cobre para prendê-la. Havia alguma coisa gravada em relevo no broche: um dragão esmaltado em púrpura, um desenho igual ao que vira na noite anterior, no sinete dele.
Foi a primeira vez que me lembro de ter-me sentido como um príncipe, e achei estranho que isto me acontecesse no momento em que eu pensava ter acabado minha sorte. Ali, na Bretanha Menor,, eu nada possuía, nem mesmo o nome de bastardo para proteger-me, nem parentes, nem um trapo que fosse meu. Mal falara com qualquer homem, exceto Ambrosius, e para ele eu era um criado, um dependente, alguma coisa para ser usada, e só continuava vivo graças à sua tolerância.
Cadal trouxe-me a refeição de manhã: pão preto, favo de mel e figos secos. Perguntei por Ambrosius.
— Está fora com os homens, treinando. Ou melhor, observando os exercícios. Vai para lá todos os dias.
— O que acha que ele quer que eu faça?
Tudo o que disse foi que você podia ficar por aqui até que descansado e que se pusesse à vontade. Preciso enviar alguém ao navio, e se me disser qual era a bagagem que perdeu, mandarei trazê-la.
— Não era muita coisa, não houve tempo. Duas túnicas e um par de sandálias embrulhadas numa capa azul e umas coisinhas: um broche e uma fivela que minha mãe me deu, coisas assim. — Toquei as dobras caras da túnica que usava. — Nada tão bom quanto isto, Cadal; espero poder servi-lo. Ele disse o que queria de mim?
— Nem uma palavra. Não acha que ele me conta seus pensamentos secretos, acha? Agora faça como ele diz, esteja em casa, fique de boca fechada, e não se meta em encrencas. Não creio que você vá vê-lo com muita freqüência.
— Não supus que fosse — respondi. — Onde vou morar?
— Aqui.
— Neste quarto?
— Provavelmente não. Quis dizer, nesta casa.
Afastei o prato para o lado.
— Cadal, my lord Uther tem casa própria?
Os olhos de Cadal iluminaram-se. Era um homem baixo e atarracado, de rosto quadrado e vermelho, uma gaforinha preta e olhos pretos e miúdos, não maiores que azeitonas, cujo brilho demonstrava que ele sabia exatamente o que eu estava pensando e, mais, que todos na casa deviam saber exatamente o que se passara entre mim e o príncipe, na noite anterior.
— Não, não tem. Mora aqui também. Encostadinho, pode-se dizer.
— Oh!
— Não se preocupe; não o verá com freqüência, tampouco. Irá para o norte dentro de uma ou duas semanas. Deverá esfriar depressa, com esse tempo... Provavelmente já terá esquecido tudo a seu respeito nessa altura. Sorriu e saiu.
Tinha razão; nas duas semanas seguintes mal vi Uther, e a seguir ele partiu com as tropas para o norte em alguma expedição destinada tanto a exercício para sua companhia, como a uma sortida em busca de suprimentos. Cadal adivinhara o alívio que isto me traria; não me entristeceu nada ficar fora do alcance de Uther. Tinha idéia de que minha presença na casa do irmão não lhe agradara e que, na verdade, a bondade continuada de Ambrosius o aborrecia bastante.
Eu esperava pouco ver o Conde depois da primeira noite em que contara tudo o que sabia, mas dali em diante ele mandava-me buscar na maioria das noites em que estava livre, às vezes para interrogar-me sobre a minha casa, outras, quando estava cansado, para que eu tocasse para ele ou ainda, em diversas ocasiões, para uma partida de xadrez. Aqui, para minha surpresa, estávamos quase iguais e não creio que ele me deixasse ganhar. Estava sem prática, dizia-me; o jogo mais costumeiro eram os dados, mas ele não iria arriscar-se com uma criança adivinha. O xadrez, sendo uma questão de matemática e não de mágica, seria menos suscetível à magia negra. Ele manteve a promessa e explicou-me o que eu vira naquela primeira noite junto à pedra aprumada. Acredito que, se me tivesse dito para fazê-lo, eu teria até esquecido a coisa toda, considerando-a um sonho. À medida que o tempo passava, a lembrança se tornara toldada e esmaecida e comecei mesmo a pensar que talvez fosse um sonho produzido pelo frio e pela fome ou por uma vaga recordação da pintura apagada na arca romana do meu quarto em Maridunum, o touro ajoelhado e o homem com a faca sob a abóbada engastada de estrelas. Mas, quando Ambrosius falou nisso, percebi que eu vira mais do que estava na pintura. Vira o deus dos soldados, a Palavra, a Luz, o Bom Pastor, o Mediador entre o Deus único e os homens. Vira Mithras, que viera da Ásia há mil anos. Nascera, segundo Ambrosius me contou, numa caverna, em pleno inverno, sob o olhar dos pastores e uma estrela que brilhava; nascera da terra e da luz e emergira de um rochedo com uma tocha na mão esquerda e uma faca na direita. Matava o touro para que o sangue derramado trouxesse vida e fertilidade à terra, e depois da sua última refeição, de pão e vinho, fora chamado aos céus. Era o deus da força e da mansidão, da coragem e do autodomínio. — O deus dos soldados — repetiu Ambrosius — e é por isso que restabelecemos seu culto, para proporcionar, como faziam os exércitos romanos, um ponto comum de encontro aos chefes e reinóis de todas as línguas e convicções, que lutam conosco. Sobre o culto, não posso falar-lhe porque é proibido, mas deverá ter percebido isso na primeira noite; eu e meus oficiais havíamo-nos reunido para a cerimônia de culto e sua conversa de pão e vinho e matança de touro fez parecer que tivesse visto mais da nossa cerimônia do que nos é permitido falar. Você saberá de tudo um dia, talvez. Até lá, esteja prevenido e, se lhe perguntarem pela visão, lembre-se, foi apenas um sonho. Compreendeu?
Assenti, mas com a mente subitamente avassalada por uma única coisa que ele dissera. Pensei em minha mãe e nos padres cristãos, em Galapas e na fonte de Myrddin, em coisas vistas na água e ouvidas ao vento.
— Quer que eu me torne um iniciado de Mithras?
— Um homem toma o poder onde lhe é oferecido. — repetiu ele. — Disse-me que não sabe qual o deus que o guia; talvez Mithras fosse o deus no caminho de quem você se colocou e que o conduziu a mim. Veremos. Entrementes, ele continua sendo o deus dos exércitos e precisaremos de sua ajuda... Agora traga a harpa, por favor, e cante para mim.
Assim lidava comigo, tratando-me mais como príncipe do que eu jamais fora tratado na casa do meu avô, onde ao menos eu tinha alguma espécie de direito a isso.
Cadal foi designado meu criado pessoal. Pensei a princípio que pudesse ressentir-se disso, já que era um substitutivo pouco satisfatório ao serviço de Ambrosius, mas não pareceu importar-se. Na verdade, tive mesmo a impressão de que ficara satisfeito. Logo se pôs em bons termos comigo, e como no palácio não havia outros meninos da minha idade tornou-se meu companheiro constante. Ganhei também um cavalo. A princípio, deram-me um dos de Ambrosius, mas passado um dia ou dois pedi, desinibidamente, se poderia ficar com outro mais apropriado ao meu tamanho e deram-me um cinzento, pequeno e obstinado, que no meu único momento de nostalgia chamei de Aster.
Assim passaram os primeiros dias. Saía a cavalo com Cadal ao meu lado para conhecer o país; isto ainda sob o gelo, mas logo o gelo se tornou chuva, transformando os campos num lamaçal revolvido e tornando os caminhos escorregadios e perigosos; um vento frio assoviava dia e noite pelas planícies, agitando o Mar Pequeno até pintá-lo de branco sobre o fundo cinza-chumbo e escurecendo?de umidade a face norte das pedras aprumadas. Procurei um dia a pedra com a marca do machado, mas não consegui encontrá-la. Mas havia uma outra que, sob determinada lua, mostrava uma adaga esculpida, e ainda uma pedra grossa um pouco afastada em que sob o líquen e os excrementos dos pássaros aparecia a forma de um olho aberto. À luz do dia, as pedras não bafejavam frio na nossa nuca, mas, ainda assim, havia alguma coisa ali, a observar-nos, e não era um caminho que meu pônei gostasse de seguir.
Naturalmente explorei a cidade. O castelo do rei Budec situava-se ao centro, numa saliência rochosa que fora coroada com um muro alto. Uma rampa de pedra conduzia ao portão sempre fechado e guardado. Com freqüência, via Ambrosius ou seus oficiais subirem a rampa a cavalo; eu próprio, no entanto, nunca me aproximava além do posto de guarda, embaixo. Mas vi o rei Budec, diversas vezes, acompanhado dos seus homens. O cabelo e a longa barba eram quase brancos, mas ele cavalgava um grande cavalo castanho como um homem trinta anos mais jovem e ouvi inúmeras histórias da sua perícia nas armas e da jura que fizera de vingar-se de Vortigern pelo assassinato de seu primo Constantius, mesmo que levasse toda uma vida. Isto, na verdade, ameaçava acontecer, pois parecia uma tarefa quase impossível para um país tão pobre formar o tipo de exército que pudesse derrotar Vortigern e os saxões e vir a dominar a Bretanha Maior. Mas agora não tardaria, diziam os homens, não tardaria...
Todos os dias, qualquer que fosse o tempo, os homens treinavam nas planícies fora dos muros da cidade. Soube, então, que Ambrosius dispunha de um exército efetivo de cerca de quatro mil homens. No que tocava a Budec, eles ganhavam a vida doze vezes, já que a menos de trinta milhas de distância suas fronteiras confrontavam-se com as de um jovem rei cujos olhos brilhavam à perspectiva de saque e que só era contido pelos rumores da crescente força de Ambrosius e a temível reputação dos seus homens. Budec e Ambrosius cultivavam a idéia de que o exército era principalmente defensivo e tomavam providências para que Vortigern nada soubesse de certo; notícias do preparo de uma invasão chegavam-lhe como dantes apenas sob a forma de boatos e os espiões de Ambrosius se encarregavam de fazê-los parecer assim. O que Vortigern realmente acreditava, era que Budec desdobrava-se para que ele pensasse que Ambrosius e Uther se conformavam com o destino de exilados, acomodavam-se na Bretanha Menor como herdeiros de Budec e preocupavam-se apenas em manter as fronteiras que um dia seriam as deles próprios.
Esta impressão era estimulada pelo fato de o exército ser usado como uma força de abastecimento para a cidade. Nada era simples ou pesado demais para os homens de Ambrosius. Esses soldados experimentados desempenhavam, naturalmente, tarefas que até as tropas bem treinadas do meu avô teriam desprezado; carregavam e estocavam madeira nos depósitos da cidade, e escavavam e armazenavam turfa e carvão. Construíam e trabalhavam nas ferrarias, fabricando não só armas de guerra, mas também ferramentas para o cultivo, a colheita e a construção: pás, arados, machados e foices. Sabiam domar cavalos, arrebanhar e conduzir o gado, assim como abatê-lo; construíam carroças; sabiam assentar e montar guarda a um acampamento em duas horas e levantar o mesmo com uma hora de diferença. Possuíam um corpo de engenheiros em meia milha quadrada de oficinas que podiam fornecer qualquer coisa, de um remo a um navio de tropas. Em suma, equipavam-se para a tarefa de desembarcar de olhos vendados num país estranho e talvez viver dele, deslocando-se rapidamente em qualquer tempo. — Pois — disse Ambrosius certa vez a seus oficiais diante de mim — é só para soldados mal preparados que a guerra é um jogo de bom tempo. Lutarei para vencer e, uma vez vencendo, para dominar. E a Bretanha é um país grande; comparado a ela, este pedaço da Gália não passa de uma campina. Portanto, senhores, lutaremos primavera e verão, mas não pararemos à primeira geada de outubro para descansar e afiar nossas espadas até a primavera seguinte. Continuaremos a lutar — na neve se necessário, na tempestade e no gelo e na lama pesada do inverno. E em todo esse tempo e durante todo esse tempo, precisaremos de alimentos e quinze mil homens precisarão de se alimentar, e bem.
Pouco depois disso, cerca de um mês a partir da minha chegada à Bretanha Menor, meus dias de liberdade terminaram. Ambrosius arranjou-me um tutor.
Belasius era muito diferente de Galapas e de Demetrius, o bêbedo gentil, que fora meu tutor: oficial em casa. No vigor da mocidade, era um dos homens de negócios do Conde e parecia ser o encarregado das estimativas e da parte contábil dos empreendimentos de Ambrosius; era, por profissão, matemático e astrônomo. Meio galo-romano, meio siciliano, um homem um tanto alto, com longos cílios escuros, uma expressão melancólica e boca cruel. Possuía uma língua ferina e um gênio mau e intempestivo, mas não se mostrava inconstante. Logo aprendi que a maneira de escapar aos seus sarcasmos e à sua mão pesada era desincumbir-me do meu trabalho rapidamente, e bem, e uma vez que isto me era fácil e do meu agrado, não tardou que nos entendêssemos e nos déssemos razoavelmente bem.
Uma tarde, em fins de março, estudávamos no meu quarto em casa de Ambrosius. Belasius possuía aposentos na cidade, que tinha o cuidado de nunca mencionar, pelo que eu presumi que vivesse com alguma rameira e talvez tivesse vergonha de que eu pudesse vê-la; trabalhava a maior parte do tempo no quartel-general, mas os escritórios perto do tesouro estavam sempre tão cheios de funcionários e pagadores, que dávamos as lições diárias no meu quarto. Este não era grande, mas aos meus olhos, bem provido, com um piso de ladrilhos vermelhos fabricados localmente, um espelho de bronze, um braseiro e uma lâmpada importados de Roma.
Hoje, já à tarde, a lâmpada fora acesa, pois o dia estava escuro e nublado. Belasius parecia satisfeito comigo; estudávamos matemática, e era um desses dias em que eu nada esquecia e deslindava os problemas que ele me apresentava como se o campo do conhecimento fosse uma campina aberta com uma trilha a cruzá-la no centro, à vista de todos.
Ele passou a palma da mão pela cera para apagar meu desenho, afastou as tabuinhas e pôs-se de pé.
— Saiu-se bem hoje, o que foi ótimo, porque preciso retirar-me cedo.
E estendendo o braço tocou a campainha. A porta abriu-se tão depressa que eu percebi que seu criado deveria estar à espera junto desta. O menino veio com a capa do amo nos braços e sacudiu-a rapidamente para apresentá-la aberta. Nem ao menos olhou na minha direção para pedir permissão, mas tinha os olhos fixos em Belasius e eu podia ver que o temia. Tinha mais ou menos a minha idade, ou talvez menos, o cabelo castanho cortado rente sob um gorro virado e os olhos cinzentos grandes demais para o seu rosto. Belasius não falou nem olhou para ele, mas voltou os ombros para a capa e o menino esticou-se para passar a fivela. Sobre a cabeça do menino, Belasius comentou:
— Falarei ao Conde do seu progresso. Ele ficará satisfeito.
A expressão do seu rosto aproximava-se tanto de um sorriso que ele jamais mostrara. Encorajado, virei-me no banquinho.
— Belasius...
Ele parou a meio caminho da porta.
— Sim?
— Você certamente deve saber... Por favor, diga-me. Quais são os planos dele para mim?
— Que você estude matemática e astronomia e não esqueça as línguas que aprendeu.
Seu tom era suave e mecânico, mas havia divertimento nos seus olhos, de modo que prossegui.
— Para ser o quê?
— O que quer ser?
Não respondi. Ele assentiu como se eu tivesse falado.
— Se ele quisesse que você empunhasse uma espada, você estaria na praça, agora.
— Mas... viver aqui como vivo, você a ensinar-me e Cadal como criado... Não compreendo. Deveria estar a servi-lo de alguma forma, não apenas aprendendo e vivendo assim como um príncipe. Sei muito bem que só vivo graças à sua misericórdia.
Ele me fitou um momento sob os cílios longos. Então sorriu.
— É algo para lembrar-se. Creio que você lhe disse, certa vez, que o que era e não quem era é que deveria importar. Acredite-me, ele o usará como usa a todos. Portanto, pare de se preocupar e deixe estar. Agora preciso ir-me.
O menino abriu a porta para ele, deixando entrever Cadal que acabava de chegar com a mão erguida para bater na porta.
— Oh! desculpe-me, senhor! Vim saber quando terminaria por hoje. Já aprontei os cavalos, senhor Merlin.
— Já terminamos — disse Belasius. Parou no portal e voltou-se para encarar-me. - Aonde planejava ir?
— Norte, creio eu, a estrada pela floresta. O caminho elevado ainda está bom e a estrada, seca.
Ele hesitou, então disse mais para Cadal que para mim:
— Então não saia da estrada e esteja em casa antes do escurecer.
— Acenou com a cabeça e saiu com o menino nos calcanhares.
— Antes de escurecer? — disse Cadal. — Esteve escuro o dia todo e além disso chove agora. Olhe, Merlin — quando nos encontrávamos a sós, éramos menos formais — por que não damos apenas uma olhada nas oficinas dos engenheiros? Sempre lhe dá prazer e Tremorinus já deve ter o aríete funcionando a esta altura. O que diz de ficarmos na cidade?
Sacudi a cabeça.
— Sinto muito, Cadal, mas preciso ir com chuva ou sem chuva. Estou irrequieto ou coisa parecida e preciso sair.
— Bem, então uma milha ou duas na direção do porto serviriam. Vamos, aqui está sua capa. Deve estar escuro como breu na floresta; tenha um pouco de juízo.
— A floresta — disse eu, obstinado, desviando a cabeça enquanto ele fechava o broche. — E não discuta comigo, Cadal. Se me perguntar, Belasius é que tem a idéia correta. O criado dele nem ousa falar, muito menos discutir. Eu deveria tratá-lo da mesma forma — de fato, vou começar, a partir deste momento... De que está rindo?
— Nada. Está bem, sei quando devo ceder. Pois será a floresta, c se nos perdermos e não voltarmos vivos, ao menos eu terei morrido e não precisarei enfrentar o Conde.
— Não vejo como ele se vá realmente importar muito com isso.
— Oh, ele não se importará! — respondeu Cadal, segurando a porta para eu passar. — Era apenas uma maneira de falar. Duvido de que chegue sequer a notar.
UMA VEZ DO LADO DE FORA, não estava tão escuro quanto parecia, e até razoavelmente quente; um dia pesado e cinzento, carregado de nevoeiro com uma chuva miúda, que se depositava sobre a lã pesada das nossas capas, como geada.
Cerca de uma milha ao norte da cidade, a turfa rasa e castigada pelo sal começava a ceder lugar à floresta, rala a princípio, as árvores crescendo isoladas, com véus de névoa branca a assediarem seus ramos baixos ou a cobrirem a turfa para dispersar-se aqui e ali em volteios de veado em fuga.
A estrada para o norte era antiga e pavimentada, e os homens que a tinham construído haviam desbastado as árvores e o mato cem passos de cada lado; mas com o tempo e a negligência, o campo aberto voltara a cobrir-se de tojos e urzes e árvores pequenas, de modo que agora a floresta parecia avançar sobre quem passava e o caminho era escuro.
Perto da cidade vimos uns dois camponeses carregando lenha para casa no lombo de burros e um dos mensageiros de Ambrosius passou por nós a galope, com um relance e o que nos pareceu uma meia-saudação. Mas na floresta não encontramos ninguém. Era a hora silenciosa que fica entre o canto da passarada de um dia de março e a caça das corujas.
Quando alcançamos as árvores grandes, parará de chover e a neblina dissipava-se. Afinal chegamos a uma encruzilhada, onde uma trilha — sem calçamento — cortava em ângulo reto a nossa estrada. A trilha era usada para retirar madeira da floresta e também pelas carroças de carvão, e ainda que acidentada e profundamente sulcada, era limpa e reta, e mantendo-se o cavalo nas beiras, podia-se por ela galopar.
— Vamos virar aqui, Cadal.
— Você sabe que ele disse para ficarmos na estrada.
— Sim, eu sei que ele disse, mas não vejo razão. A floresta é perfeitamente segura.
Isso era verdade; mais uma das medidas de Ambrosius. Os homens já não receavam viajar a cavalo pela Bretanha Menor nas proximidades da cidade. O campo era constantemente patrulhado por companhias de soldados alertas e dispostos a arranjar serviço. Na verdade, o maior perigo, ouvi-o certa vez dizer, era as tropas treinarem em excesso e, entediadas, esforçarem-se demais para encontrar encrencas. Entrementes, os fora-da-lei e os descontentes mantinham-se afastados, permitindo à gente comum tratar dos seus assuntos em paz. Até mulheres podiam viajar sem muita escolta.
— Além do mais — acrescentei — que importa o que ele disse?
Ele não é meu amo. Só está encarregado de ensinar-me, nada mais. Não é provável que erremos o caminho, se nos guiarmos pelas marcas de rodas, e se não aproveitarmos para galopar agora, ficará escuro demais para forçar os cavalos na volta. Você está sempre reclamando que eu não monto bem. Como posso, se estamos sempre trotando ao longo das estradas? Por favor, Cadal.
— Olhe, eu também não sou seu amo. Está bem, mas não se afaste. E cuidado com o pônei; estará escuro sob as árvores. É melhor eu ir à frente.
Segurei as rédeas dele.
— Não. Eu gostaria de ir à frente e... quer retardar-se um pouco, por favor? A coisa é que eu... quase não estou só e isto é uma coisa a que estava acostumado. É uma das razões por que quis vir para estes lados. — E acrescentei, cuidadoso: — Não é que não esteja satisfeito com sua companhia, mas às vezes a pessoa precisa de tempo para... bem, para refletir. Será que me dá uns cinqüenta passos de distância?
Ele puxou as rédeas para trás imediatamente. E pigarreando:
— Eu lhe disse que não sou seu amo. Vá em frente. Mas tenha cuidado.
Voltei Aster para a trilha e toquei num meio-galope. O cavalo não saía dos estábulos há três dias e, apesar da distância que cobríramos, estava inquieto. Deitou as orelhas para trás e ganhou velocidade pela beira gramada da trilha. Felizmente a névoa praticamente desaparecera, exceto em trechos onde cortava a trilha à altura da sela, fazendo os cavalos parecerem mergulhar, como se atravessassem um vau.
Cadal mantinha-se bastante atrás; eu ouvia as batidas dos cascos da égua como um eco pesado do galope do meu pônei. A chuva miúda passara e o ar estava puro, fresco e com o forte perfume dos pinheiros. Uma galinhola passou voando com um grito doce e sussurrante e de um pendão de abeto caíram gotas de água na minha boca, deslizando a seguir pela gola da minha túnica. Sacudi a cabeça rindo e o pônei apertou o passo, dispersando a neblina como se fosse espuma. Deitei-me sobre seu pescoço à medida que a trilha estreitava e os galhos começavam a açoitar-me de verdade. Escurecia; o céu tornava-se opaco como se anoitecesse entre os galhos; a floresta passava por nós como uma nuvem negra carregada de odores e silêncio, quebrado apenas pelo galope de Aster e os passos medidos da égua.
Cadal gritou-me que parasse. Como não respondi prontamente, a batida dos cascos da égua intensificou-se, mais próxima. As orelhas de Aster levantaram e abaixaram outra vez e ele começou a correr. Puxei-lhe as rédeas. Foi fácil, porque a corrida era pesada e ele suava. Diminuiu o passo e esperou sossegado que Cadal nos alcançasse. A égua castanha parou. O único som na floresta, agora, era a respiração dos cavalos.
— Bem, — disse ele, afinal, — teve o que queria?
— Sim, só que você me chamou muito cedo.
— Temos de voltar daqui se quisermos chegar em tempo para a ceia. Corre bem esse pônei. Quer seguir à frente no caminho de volta?
— Se puder.
— Eu lhe disse que não há problema, faça como quiser. Sei que não sai sozinho, mas ainda é criança e cabe a mim ver que nenhum mal lhe aconteça, é só.
— Que mal poderia acontecer-me? Eu costumava ir a toda parte sozinho, na minha terra.
— Aqui não é sua terra. Você não conhece o país ainda. Poderia perder-se ou cair do pônei e ficar deitado na floresta com uma perna quebrada...
— Isto não é muito provável, é? Você tem ordens para me vigiar, por que não admite?
— Para cuidar de você.
— Dá quase no mesmo. Ouvi como lhe chamam. "O cão de guarda".
Ele resmungou:
— Não precisa enfeitar. — "O cão preto de Merlin" foi como ouvi. Não pense que me importo. Faço o que ele manda sem discutir, mas sinto muito se isto lhe aborrece.
— Não me aborrece... oh, não me aborrece. Não quis dizer isso... está bem, é só que... Cadal...
— O que é?
— Sou um refém, afinal?
— Isto eu não saberia responder — disse Cadal, sem jeito. Vamos, então, dá para passar?
No lugar onde os cavalos pararam, o caminho era estreito, e o centro da trilha afundava-se em lama que refletia fracamente o céu da noite. Cadal puxou a égua para o mato que beirava a trilha e eu forcei Aster — que não gostava de molhar as patas a não ser obrigado — a passar. Quando as grandes ancas da égua castanha recuaram contra um emaranhado de carvalhos e castanheiros, ouviu-se, de súbito, um estalido e a seguir o ruído de gravetos partidos quando um animal rompeu pelo mato quase sob a barriga da égua, atravessando o caminho à frente do meu pônei.
Os dois animais reagiram violentamente. A égua, com um re-lincho de medo, avançou, contrariando as rédeas. No mesmo instante, Aster empinou violentamente, quase me derrubando. No mergulho, a égua colidiu com o ombro do pônei que hesitou, deu meia-volta, e precipitou-se, atirando-me no chão.
Errei a água por centímetros, e caí esparramado na parte macia da beira da trilha, de encontro a um toco de pinheiro que me teria ferido seriamente se eu tivesse caído no topo. Como foi, escapei com alguns arranhões e contusões pequenas e um tornozelo torcido; ao rolar, tentando firmar o pé no chão, senti uma pontada momentânea tão aguda que a floresta pareceu flutuar.
Mesmo antes que a égua parasse de girar, Cadal já desmontara, atirara as rédeas sobre um ramo e debruçava-se sobre mim.
— Merlin... Senhor Merlin... está machucado?
Descerrei os dentes dos lábios e comecei desajeitadamente a endireitar as pernas com as duas mãos.
— Não muito, apenas no tornozelo.
— Deixe-me ver... Não. Fique quieto. Pelo cão. Ambrosius vai-me arrancar a pele por isto.
— O que foi?
— Um porco selvagem, creio eu. Pequeno demais para um veado e grande demais para uma raposa.
— Pensei que era um porco selvagem, senti-lhe o cheiro. E o meu pônei?
— A meio caminho de casa por essa altura, acho eu. Naturalmente você tinha que soltar as rédeas, não tinha?
— Sinto muito. Está quebrado?
Ele ocupara-se do meu tornozelo, apalpando, sentindo-o.
— Acho que não... Não, tenho certeza que não. De resto, está bem? Olhe, vamos, experimente se pode ficar de pé. A égua poderá levar os dois e quero estar de volta, se puder, antes que aquele seu pônei apareça de sela vazia. Estarei frito, com certeza, Se Ambrosius o vir.
— Não foi sua culpa. Ele é assim tão injusto?
— Pensará que foi, e não estaria muito errado. Vamos agora, experimente.
— Não, dê-me um momento. E não se preocupe com Ambrosius, o pônei não foi para casa, parou um pouco acima da trilha. É melhor ir buscá-lo.
Ele estava debruçado sobre mim, de joelhos e eu o via recortado indistintamente contra o céu. Voltou a cabeça para espreitar o caminho. Ao nosso lado a égua continuava parada, exceto pelas orelhas irrequietas e o canto branco dos olhos. O silêncio só era quebrado por uma coruja esvoaçando, e à distância, quase imperceptível, uma segunda, como um eco.
— Está escuro como breu até a seis metros de distância — disse Cadal. — Não vejo nada. Você ouviu quando ele parou?
— Ouvi. — Era mentira, mas aquela não era a hora nem aquele era o lugar para verdades. — Vá apanhá-lo depressa. A pé. Ele não foi longe.
Vi-o encarar-me por um momento e pôr-se de pé sem mais palavra, saindo pelo caminho. Tão bem como se fosse dia claro, eu percebia sua expressão intrigada. Lembrou-me muito de Cerdic, naquele dia, no Forte do Rei. Encostei-me ao toco. Sentia que meus arranhões e o tornozelo doíam, mas, apesar disso, invadia-me como um trago de vinho quente a sensação de excitamento e libertação que vem do poder. Eu sabia agora que precisava vir para aqueles lados; que essa seria uma hora em que nem a escuridão, nem a distância, nem o tempo significariam coisa alguma. A coruja flutuava silenciosa no alto da trilha. A égua empinou as orelhas naquela direção, observando-a sem medo. Ouvia-se o som agudo dos morcegos em alguma parte. Pensei na gruta de cristal e nos olhos de Galapas ao contar-lhe minha visão. Ele não se mostrara intrigado, nem mesmo surpreso. Ocorreu-me de repente imaginar como agiria Belasius. E senti que tampouco se surpreenderia.
Os cascos ressoavam baixinho, na turfa fofa. Vi Aster primeiro, aproximando-se como um fantasma cinzento, e a seguir Cadal, como uma sombra ao seu lado.
— Estava lá, sim — comentou — e por uma boa razão: Ficou completamente manco. Deve ter torcido alguma coisa.
— Bem, pelo menos não vai chegar a casa antes de nós.
— Vamos ter confusão com a história desta noite, pode ter certeza, não importa a hora que cheguemos. Vamos, então. Vou colocá-lo em cima de Rufa.
Com sua ajuda pus-me cuidadosamente de pé. Quando tentei descansar o peso no pé esquerdo, ainda doía-me muito, mas eu sabia pelo jeito que não passava de uma entorse e logo estaria melhor. Cadal depositou-me no lombo da égua, desenganchou as rédeas do ramo e entregou-mas na mão. Então estalou a língua para Aster e conduziu-o lentamente.
— Que está fazendo? — perguntei. — Não acha que ela pode com dois?
— Não adianta. Veja como este aqui está manco. Terá que ser levado pela mão. Se seguir à frente, ele marcará o passo. A égua acompanhará. Está bem aí em cima?
— Perfeitamente, obrigado.
O pônei cinzento estava, na verdade, completamente manco. Caminhava lentamente ao lado de Cadal, a cabeça arriada, e seguia à minha frente como um sinal de fumaça no crepúsculo. A égua acompanhava-o documente. Levaríamos umas duas horas para chegar a casa, mesmo sem contar o que nos aguardava.
Aqui, outra vez, havia uma espécie de solidão, sem outros ruídos que o dos passos dos cavalos, o rangido do couro, e os pequenos estalidos ocasionais da floresta que nos rodeava. Cadal parecia invisível, apenas uma sombra junto à névoa espectral que era Aster. Encarapitado na grande égua, a um passo confortável, sentia-me sozinho com a escuridão e as árvores.
Tínhamos percorrido talvez meia milha quando, luzindo entre os ramos de um imenso carvalho à minha direita, vi uma estrela branca e firme.
— Cadal, não há um caminho mais curto para voltarmos? Lembro-me de uma trilha para o sul, bem perto daquele carvalho. A neblina clareou e há estrelas no céu. Olhe, lá está a Ursa Maior!
Sua voz respondeu-me da escuridão.
— É melhor seguirmos em direção à estrada.
Mas, dois passos depois, ele parou o pônei na entrada da trilha para o sul, e esperou que a égua se aproximasse.
— Parece boa, não é? — perguntei. — É reta e bem mais seca que a nossa. Só precisamos manter a Ursa Maior às nossas costas e com mais duas milhas já deveremos estar sentindo o cheiro do mar. Você não sabe orientar-se na floresta?
— Bastante bem. É verdade que seria mais rápido se pudéssemos ver o caminho. — Bem... — ouvi-o retirar a espada curta da bainha.
— Não que seja provável encontrarmos problemas, mas é melhor estar preparado, portanto fale baixo, e prepare sua faca. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, jovem Merlin, se acontecer alguma coisa, siga para casa e deixe tudo comigo. Entendeu?
— Ordens de Ambrosius outra vez?
— Poderia dizer que sim.
— Está bem, se isso o faz sentir-se melhor, prometo que o abandonarei a toda velocidade. Mas não haverá problemas.
Ele resmungou.
— Até parece que você sabe.
Ri.
— Oh, eu sei!
A luz da estrela refletiu momentaneamente o branco dos seus olhos e o gesto rápido da mão. E, então, sem falar, deu meia-volta e entrou com Aster na trilha do sul.
EMBORA A TRILHA FOSSE suficientemente larga para dois cavaleiros lado a lado, seguimos em fila indiana, a égua castanha ajustando seu passo longo e confortável ao do pônei, mais curto e muito coxo.
Fazia mais frio então; aconcheguei as dobras da minha capa ao corpo, para aquecer-me. A névoa dissipara-se completamente com a queda da temperatura, o céu clareava e as estrelas surgiam, e tornou-se mais fácil distinguir o caminho. Ali as árvores eram enormes — carvalhos, na maioria, dos grandes e maciços, bastante afastados entre si, deixando ver as novas mudas que cresciam selvagens, e a hera entrelaçada às madressilvas e às moitas de espinheiro. A intervalos, as silhuetas escuras de pinheiros altivos se erguiam de encontro ao céu. Ouvia-se um chapinhar ocasional quando a umidade condensada pingava das folhas, e uma vez ouvi o grito de agonia de um animal pequeno nas garras de uma coruja. O ar cheirava a umidade, fungos, folhas mortas e matéria em decomposição.
Cadal caminhava em silêncio, os olhos na trilha que se tornava em alguns trechos arriscada, devido aos galhos caídos ou em deterioração. Atrás dele, equilibrando-me na sela da enorme égua, eu continuava possuído do mesmo poder leve e excitante. Havia algo à nossa frente, a que estávamos sendo conduzidos, eu sabia com tanta certeza como sabia que o falcão me guiara à caverna do Forte do Rei.
As orelhas de Rufa empinaram-se e senti suas narinas macias estremecerem. A cabeça ergueu-se. Cadal nada ouvira e o pônei cinzento, preocupado com a própria incapacidade, não deu sinais de farejar outros cavalos. Mas, mesmo antes de Rufa, eu sabia que eles estavam ali.
A trilha dava voltas e começava a descer suavemente. De cada lado, as árvores recuaram um pouco; seus galhos já não se encontravam no alto, e fazia-se mais claro. Agora, formavam-se barrancos dos lados da trilha, apresentando rochas salientes e trechos de solo irregular onde, no verão, irromperiam a erva dedal e as samambaias, mas que agora se cobriam de sarças mortas e flexíveis. Os cascos dos nossos cavalos arranhavam e retiniam ao descer pela encosta.
De repente, Rufa, sem diminuir o passo, ergueu a cabeça e soltou um longo relincho. Cadal, com uma exclamação, imobilizou-se e a égua alcançou-o, a cabeça levantada, as orelhas em pé voltadas para a floresta à nossa direita. Cadal agarrou-a pelo freio, puxando sua cabeça para baixo e cobrindo-lhe as narinas com a dobra do braço. Aster levantara a cabeça também, mas não deixou escapar ruído.
— Cavalos — disse eu baixinho. — Não está sentindo o cheiro?
Ouvi Cadal murmurar alguma coisa assim: "Parece que você consegue cheirar tudo; deve ter o nariz de uma raposa", e logo depois, apressado, começando a arrastar a égua para fora da trilha: "É tarde demais para voltarmos, já devem ter ouvido essa maldita égua. É melhor irmos para a floresta".
Parei-o.
— Não há necessidade. Não há dificuldades à nossa frente, tenho certeza. Vamos prosseguir.
— Você fala muito bem e com segurança, mas como pode...?
— Eu sei. De qualquer forma, se quisessem fazer-nos mal, já teríamos sabido. Devem ter-nos ouvido há muito tempo e já perceberam que são apenas dois cavalos e um deles manco.
Mas ele ainda hesitava, com os dedos na espada curta. Aguilhoadas de excitação arranhavam-me a pele, como ouriços. Eu vira para onde apontavam as orelhas da égua — um grande pinheiral, cinqüenta passos adiante, à direita da trilha. Os pinheiros mostravam-se muito escuros, mesmo contra o negrume da floresta. Subitamente já não fui capaz de esperar. E disse com impaciência:
— Vou, de qualquer jeito. Pode seguir-me ou não, como preferir.
Puxei a cabeça de Rufa para o alto, desviando-me dele, e esporeei-a com o pé bom, fazendo com que ela se precipitasse para a frente, passando o pônei cinzento. Conduzi-a direto para o barranco e subi na direção dos pinheiros.
Os cavalos estavam lá. Por uma abertura na densa abóbada do pinheiral brilhava um punhado de estrelas, que os mostrava claramente. Eram apenas dois, parados, imóveis, as cabeças abaixadas e narinas abafadas contra o peito de uma figura miúda, de capa pesada e capuz contra o frio. O capuz caiu quando ele se voltou para encarar-nos; seu rosto oval parecia pálido na claridade. Não havia mais ninguém.
Num momento de surpresa, pensei que o cavalo preto mais próximo fosse o grande potro de Ambrosius, mas quando desembaraçou a cabeça da capa vi-lhe uma mancha branca na testa e percebi, num clarão, como o de uma estrela cadente, por que eu fora trazido até ali.
Atrás de mim, atabalhoadamente e com uma expressão de surpresa, Cadal puxava Aster para o pinheiral. Vi o brilho cinzento de sua espada ao ser erguida:
— Quem está aí?
Respondi calmo, sem me voltar:
— Guarde-a. É Belasius... Pelo menos, é o cavalo dele, mais um e o menino. É só.
Ele avançou. A espada já deslizava de volta à bainha.
— Puxa, você tem razão! Eu conheceria aquela mancha branca em qualquer lugar. Ei, Ulfin, bons olhos o vejam. Onde está seu amo?
Mesmo a seis passos de distância, ouvi o menino ofegar de alívio.
— Oh, é você, Cadal... My lord Merlin... Ouvi seu cavalo relinchar... Fiquei imaginando... Ninguém vem para estes lados.
Adiantei-me com a égua e olhei para baixo. Seu rosto era um borrão pálido voltado para cima, os olhos imensos. Ainda tinha medo.
— Parece que Belasius vem — disse eu. — Por quê?
— Ele... ele não me disse nada, my lord.
Cadal disse sem rodeios:
— Não nos venha com essa. Não há muito que você desconheça a respeito dele, e você nunca está a distância maior que um braço, dia e noite, todos sabem disso. Vamos, fale logo. Onde está seu amo?
— Eu... ele não se vai demorar.
— Não podemos esperar por ele — disse Cadal. — Queremos um cavalo. Vá dizer-lhe que estamos aqui e que my lord Merlin está machucado, o pônei manco, e temos que chegar a casa depressa...
Bem? Por que não vai? Pelo amor de Deus, o que há com você?
— Não posso. Ele me disse que não devo. Proibiu-me de sair daqui.
— Como nos proibiu de sair da estrada caso viéssemos por estes lados? — disse eu. — Sei. Ora, o seu nome é Ulfin, não é? Bem, Ulfin, não importa o cavalo. Quero saber onde está Belasius.
— Eu... eu não sei.
— Deve ter visto ao menos para que lado foi?
— N-não, my lord.
— Pelo cão! — exclamou Cadal. — Que importa saber onde ele está desde que possamos levar o cavalo? Olhe, menino, tenha juízo, não podemos esperar metade da noite pelo seu amo, precisamos voltar para casa. Se disser a ele que o cavalo era para my lord Merlin, ele não vai comê-lo vivo desta vez, vai? — E, enquanto o menino balbuciava alguma coisa: — Bem, está bem, quer que saiamos a procurá-lo, nós mesmos, para pedir-lhe permissão?
Então o menino se moveu, metendo o punho na boca como um idiota.
— Não... não devem... não devem...!
— Por Mithras! — exclamei. Era uma imprecação que eu cultivava na época, tendo ouvido Ambrosius usá-la. — O que é que ele está fazendo? Algum assassinato?
Ao dizer essa palavra ouviu-se um berro.
Não um berro de dor, mas, pior, o grito de um homem morto de medo. Pensei que o grito contivesse uma palavra, como se o terror tivesse forma, mas não era nenhuma palavra que eu conhecesse. O grito cresceu intoleravelmente, como se fosse estourá-lo, e foi então cortado de uma só vez, como se tivesse sido contido por um golpe na garganta. No silêncio tenebroso que se seguiu ouviu-se um eco débil, na respiração de Ulfin.
Cadal parou conforme se voltara, uma mão empunhando a espada, a outra segurando o freio de Aster. Virei a cabeça da égua e dei-lhe com as rédeas no pescoço. Ela partiu para a frente quase me desequilibrando. Mergulhou sob os pinheiros na direção da trilha. Deitei-me no seu pescoço à medida que os galhos passavam rente, meti a mão nos arreios e agarrei-me como um carrapato. Nem. Cadal nem o menino se mexeram ou emitiram qualquer som.
A égua desceu o barranco aos tropeções, e quando alcançamos" a trilha vi, tão inevitavelmente que não me surpreendi — e nem mesmo refleti — uma outra trilha, estreita e coberta de mato, saindo para o lado exatamente oposto ao pinheiral.
Puxei a égua pela boca e quando ela relutou, tentando tomar a trilha mais larga para casa, bati-lhe outra vez. Ela inclinou as orelhas para trás e seguiu pela nova trilha, a galope.
Esta dava voltas e mais voltas, fazendo com que seu passo afrouxasse, quase imediatamente, diminuindo para um meio-galope pesado. Era a direção de onde viera aquele som horrível. Mesmo a luz das estrelas, tornava-se claro que alguém estivera por ali recentemente. A trilha era tão pouco usada que a grama de inverno e as urzes quase a escondiam, mas alguém — ou algo — abrira caminho por ali. O chão era tão macio que mesmo um cavalo a galope fazia pouco barulho.
Apurei os ouvidos para ver se Cadal me seguia, mas nada ouvi. Só então me ocorreu que os dois, tanto ele quanto o menino, deviam ter pensado que, aterrorizado pelo grito, eu correra para casa, conforme recomendara Cadal.
Fiz Rufa continuar a passo. Diminuiu a velocidade de boa vontade, a cabeça erguida, as orelhas em pé. Ela estremecia; também ouvira o grito. Via-se, trezentos passos à frente, uma clareira entre as árvores, tão indistinta que pensei marcar o fim da floresta. Cauteloso, aproximei-me dela, mas nada se movia contra o céu, para além dela.
Então, tão baixinho, que tive de apurar os ouvidos para me certificar de que não era o mar nem o vento, ouvi cantos.
Minha pele formigava. Sabia agora onde estava Belasius e por que Ulfin demonstrara tanto medo. E sabia por que Belasius dissera: "Não saiam da estrada e estejam em casa antes do escurecer."
Endireitei-me na sela. O calor corria pela minha pele em pequenas ondas, como rajadinhas de vento na superfície da água. Minha respiração era curta e ofegante. Por um momento pus-me a imaginar se seria resultado do medo e então vi que era ainda excitação. Parei a égua e desci silenciosamente da sela. Levei-a a uns três passos para o abrigo da floresta, amarrei as rédeas num galho, e deixei-a ali. Meu pé doeu quando o pousei no chão, mas as pontadas eram toleráveis, e logo me esqueci delas, ao coxear, ligeiro, na direção dos cantos e do céu mais claro.
Eu ESTAVA CERTO ao pensar que o mar se encontrava próximo. A floresta terminava numa extensão de água tão fechada que pensei a princípio tratar-se de um grande lago, até que senti o cheiro de sal e vi, na praia estreita, a mancha escura das algas marinhas. A floresta acabava abruptamente num barranco alto, que a maré corroia ano após ano, deixando as raízes expostas em meio ao barro da ponta de terra. A praia estreita era formada principalmente de cascalho, mas aqui e ali apareciam nesgas de areia clara e acinzentada, leques brilhantes que se espalhavam como samambaias onde a água rasa corria para o mar. A baía era tão calma que parecia que a geada das semanas anteriores a tivesse mantido congelada; então, uma linha pálida na superfície escura denunciava a abertura entre os promontórios distantes, onde o mar embranquecia. Para a direita — o sul — a floresta negra transformava-se em serra, enquanto que para o norte, onde a terra era mais plana, grandes árvores ofereciam abrigo. Um porto perfeito, pensar-se-ia, até se ver como era raso, como as pedras e rochedos emergiam escuros da água na maré baixa, brilhantes de algas à luz das estrelas.
No meio da baía, tão ao centro que a princípio pensei ter sido construída pelo homem, havia uma ilha, ou antes, o que deveria ser uma ilha na maré alta, mas que se apresentava agora como uma península; uma terra ovalada, ligada à praia por uma caminho de pedras, sem dúvida feito pelo homem e que a unia à terra firme como um cordão umbilical. Numa das enseadas, a mais rasa, formada pelo caminho de cascalho e a praia, algumas embarcações pequenas - botes de couro, — assemelhavam-se a focas.
Ali, rente à baia, surgia novamente a neblina caindo por entre os galhos como redes de pesca penduradas a secar. Na superfície macia água, ela flutuava, dispersava-se e esfiapava-se até desaparecer totalmente, para tornar-se espessa mais adiante, e esfumaçar lentamente sobre a água. Tão densamente envolvia a base da ilha que esta parecia flutuar em meio a uma nuvem e as estrelas, no alto, refletindo a luz acinzentada da névoa, destacavam a ilha, com nitidez.
Esta lembrava mais um ovo do que uma elipse, estreita junto ao istmo, alargando-se para o fundo, onde se erguia uma pequena colina de formato tão regular quanto uma colméia. No sopé havia um círculo de pedras aprumadas, círculo esse interrompido apenas no ponto diretamente à minha frente por uma grande abertura à guisa de portão, de onde saía um caminho ladeado dessas pedras e que vinha terminar na trilha elevada de cascalho.
Não havia ruído nem movimento. Não fora pelas formas desbotadas dos barcos na praia, eu teria pensado que os gritos e os cantos eram produto da minha imaginação. Permaneci parado na orla da floresta, o braço esquerdo passado por um tronco de freixo, o peso no pé direito, observando com olhos tão completamente ajustados à escuridão da floresta que a ilha iluminada pela névoa parecia clara como o dia.
Do sopé da colina, na extremidade do caminho central, surgiu de súbito uma tocha. Iluminou por momentos uma abertura na parte inferior da colina, recortando com nitidez o archoteiro, um vulto de vestes brancas. Vi então que o que eu tomara por bancos de nevoeiro à sombra dos cromlechs, eram grupos de figuras imóveis, também vestidas de branco. Quando a tocha foi erguida, recomeçaram outra vez os cantos baixinho, num ritmo livre e errante que me era desconhecido. Então, archote e archoteiro mergulharam lentamente no chão e compreendi que havia uma estrada subterrânea e que ele descia um lance de escadas rumo ao coração da colina. Os outros precipitaram-se atrás dele, em grupos que se amontoavam em torno da entrada e desapareciam como a fumaça sugada por uma porta de forno.
Os cantos continuavam, mas tão indistintos e abafados que não passavam de um zumbido de abelhas numa colméia de inverno. Não havia música, apenas o ritmo que decrescia para uma mera pulsação no ar, batidas de som, mais sentidas que ouvidas, e que pouco a pouco apertavam e aceleravam até baterem rápidas e altas e com elas o meu sangue...
De repente pararam. Fez-se uma pausa de quietude total, mas uma quietude tão pesada que senti um nó na garganta e um inchaço de tensão. Descobri que deixara as árvores e encontrava-me à vista sobre a turfa do barranco, a entorse esquecida, os pés afastados e firmados no chão, como se meu corpo tivesse criado raízes e através delas buscasse extrair vida da terra como as árvores extraem a seiva. E, como muda de árvore crescendo e subindo, a excitação em mim crescia e se expandia, originando-se nas profundezas da ilha, correndo pelo cordão umbilical de cascalho e eclodindo na minha carne e no meu espírito de tal modo que, quando finalmente ouvi o grito, foi como se este tivesse partido do meu próprio corpo.
Um grito diferente desta vez, fino e agudo que parecia significar qualquer coisa, triunfo, rendição ou dor. Um grito mortal, desta vez não da vítima, mas do assassino.
E a seguir o silêncio. A noite estava parada e quieta. A ilha era uma colméia selada, encerrando no seu interior o que quer que andasse e zumbisse.
Então o líder — presumo que fosse ele, embora desta feita o archote estivesse apagado — apareceu subitamente na entrada como um fantasma, e subiu os degraus. O resto acompanhava-o, movendo-se não como pessoas numa procissão, mas lenta e suavemente em grupos que se separavam e se reuniam formando um padrão, como numa dança, até que novamente se separaram em duas filas ao lado dos cromlechs.
Mais uma vez, imobilidade completa. Então o líder ergueu os braços. Como se a um sinal, branca e brilhante como a lâmina de uma faca, apareceu uma ponta de lua no topo da colina.
O líder gritou, e este grito, o terceiro, era decerto de saudação triunfante, e estendeu os braços para o alto como se oferecesse o que trazia entre as mãos.
A multidão respondeu-lhe, canto e contracanto. E, como a lua se destacasse da colina, o sacerdote abaixou os braços e voltou-se. O que ele oferecera à deusa, oferecia agora aos adoradores. O grupo aproximou-se.
Eu estivera tão absorto pela cerimônia no meio da ilha que não reparara na praia nem percebera que a névoa subira e toldava agora a própria avenida. Meus olhos, esforçando-se na escuridão, viam as formas brancas das pessoas como parte da neblina que se aglutinava e se dispersava, formando torvelinhos brancos aqui e ali.
Daí a pouco, compreendi o que realmente acontecia: a aglomeração desfazia-se e as pessoas, em grupos de duas e três, desciam silenciosamente a avenida, entrando e saindo das sombras que a lua em ascensão pintava entre as pedras. Dirigiam-se aos botes.
Não fazia idéia de quanto tempo se passara, mas quando dei por mim estava entorpecido e onde a capa escorregara eu estava molhado de neblina. Sacudi-me como um cachorro, recuando para o abrigo das árvores. A excitação escoara-se de mim, tanto do espírito como do corpo, numa onda quente que desceu pelas minhas as. E senti-me vazio e envergonhado. Vagamente eu sabia que isso era algo novo; essa não era a força que eu aprendera a receber e a cultivar, e essa sensação de vazio tampouco era conseqüência do poder. Este me deixara leve, liberto e afiado como uma navalha; agora eu me sentia como um pote lambido, ainda pegajoso, recendendo ao que contivera.
Curvei-me, com os músculos enrijecidos, e arranquei um punhado de relva úmida e clara para limpar-me; esfregando as mãos e recolhendo gotas de orvalho da turfa, lavei o rosto. A água cheirava a folhas e à própria umidade do ar e fez-me pensar em Galapas, na fonte sagrada e na longa caneca de chifre. Enxuguei as mãos no interior da capa, puxei-a para mim e voltei ao meu posto junto ao freixo.
A baía pontilhava-se de barcos que se retiravam. A ilha se esvaziara, exceto pela figura alta e branca que descia agora diretamente pelo centro do caminho. A névoa ocultava-o, revelava-o e ocultava-o outra vez. Ele não se dirigia a nenhum barco; parecia vir direto ao caminho de cascalho, mas, ao alcançar o fim da avenida, parou à sombra da última pedra e desapareceu.
Esperei, pouco sentindo a não ser cansaço, uma vontade de beber água fresca e de estar aconchegado no meu quarto sossegado e quente. Não havia magia no ar; a noite estava desenxavida como vinho velho. Num minuto, sem dúvida alguma, vi-o ao luar, emergindo no caminho de cascalho. Usava agora uma roupa escura. Só se desfizera da veste branca. Trazia-a sobre o braço.
O último dos barcos era um pontinho diminuto na escuridão. O homem solitário atravessou rapidamente o caminho de cascalho. Saí da proteção das árvores e desci para a praia ao seu encontro.
BELASIUS VIU-ME antes que eu tivesse deixado por completo o arvoredo. Não fez sinal algum, a não ser desviar-se para o lado, ao fim do caminho de cascalho. Veio em minha direção, sem pressa, e parou, examinando-me.
— Ah! — Foi sua única saudação, dita sem mostras de surpresa. — Eu devia ter adivinhado. Há quanto tempo esta aí?
— Nem sei. O tempo passou depressa. Eu estava tão interessado...
Ele ficou calado. O luar, claro agora, caía obliquamente sobre o lado direito do seu rosto. Eu não conseguia ver-lhe os olhos, ocultos pelos longos cílios negros, mas havia algo calmo, quase sono-lento, na sua voz e atitude. Eu sentira o mesmo, depois daquele grito na floresta. A flecha acertara, e o arco afrouxara.
Ele ignorou minha provocação e perguntou simplesmente:
— Que o trouxe aqui?
— Vim ao ouvir o grito.
— Ah! — disse ele outra vez. — Veio de onde?
— Do pinheiral, onde deixou seu cavalo.
— Por que veio para estes lados? Disse-lhe para não sair da estrada.
— Eu sei, mas queria galopar, então saí para a trilha principal e sofri um acidente com Aster; ele torceu a pata dianteira, e tivemos que trazê-lo pela mão. Era lento e estávamos atrasados, daí tomamos um atalho.
— Sei. E onde está Cadal?
Deve ter pensado que corri para casa, e provavelmente seguiu atrás de mim. De qualquer forma não me acompanhou até aqui.
— Foi sensato — disse Belasius. Sua voz era calma, quase sonolenta, mas de uma sonolência felina, aveludada, que ocultava a ponta brilhante de uma adaga. — Apesar do que ouviu, não lhe ocorreu voltar para casa?
— Naturalmente que não.
Percebi seus olhos brilharem por um segundo sob os longos cílios.
— Naturalmente que não?
— Precisava saber o que estava acontecendo.
— Ah! Sabia que eu estaria aqui?
— Não até que vi Ulfin e os cavalos. E tampouco por você me ter dito para não sair da estrada. Mas eu... digamos que sabia que havia alguma coisa na floresta esta noite e tinha que descobrir o que era!
Contemplou-me por mais algum tempo. Eu estivera certo ao pensar que ele não demonstraria surpresa. Então, acenou com a cabeça.
— Vamos, está frio e quero minha capa. — Ao segui-lo eu pelo cascalho que rangia, acrescentou por sobre os ombros: — Suponho que Ulfin ainda esteja lá!
— Creio que sim. Você o conserva eficientemente apavorado.
— Ele não precisa ter receio enquanto se mantiver afastado e nada vir.
— Então é verdade que ele não sabe?
— O que quer que saiba ou não saiba — respondeu-me com indiferença — ele tem o bom senso de se calar. Prometi-lhe que, se me obedecer nessas coisas sem discutir, eu o libertarei em tempo de escapar.
— Escapar? De quê?
— Da morte, quando eu morrer. É praxe enviar os criados dos sacerdotes com eles.
Caminhávamos lado a lado pela trilha. Olhei para ele. Usava uma roupa preta mais elegante do que qualquer outra que eu tivesse visto em casa, mesmo as de Camlach; seu cinto era de couro finamente trabalhado, provavelmente italiano, e trazia um grande broche redondo, onde se refletia ao luar um desenho de círculos e serpentes entrelaçadas em ouro. Ele parecia — mesmo sob a sombra dos acontecimentos da noite — romano, civilizado, inteligente. Perguntei-lhe:
— Perdoe-me, Belasius, mas essa coisa não desapareceu com os egípcios? Mesmo em Gales nós a consideraríamos antiquada.
— Talvez. Mas poderíamos dizer que a própria deusa é antiquada e gosta de ser cultuada da forma que conhece. E essa forma é quase tão velha quanto ela, mais antiga que a memória do homem, mesmo em cantos ou pedras. Muito antes de os touros serem imolados na Pérsia, muito antes de chegarem a Creta e mesmo antes que os deuses do céu saíssem da África e estas pedras fossem erguidas em sua homenagem, a deusa estava aqui, na gruta sagrada. Agora a floresta nos é vedada, e cultuamo-la onde podemos; mas onde quer que a deusa esteja, seja em pedra, árvore ou caverna, há um bosque chamado Nemet e lá fazemos nossas oferendas. Vejo que me entende.
— Muito bem. Aprendi essas coisas em Gales. Mas já se passaram alguns séculos desde que se fazia o tipo de oferenda que você fez esta noite.
Sua voz era suave como óleo.
— Ele foi morto por sacrilégio. Não lhe ensinaram? — Parou de repente e a mão caiu-lhe sobre o quadril. O tom mudou. — Aquele é o cavalo, de Cadal. — Sua cabeça girava como a de um cão de caça.
— Fui eu que o trouxe — disse eu. — Contei-lhe que meu pônei estava manco. Cadal deve ter ido para casa. Suponho que tenha levado um dos seus.
Desamarrei a égua e trouxe-a para a claridade da trilha aberta. Ele voltava a descansar a adaga. Prosseguimos caminhando, a égua a nos acompanhar, com o focinho no meu ombro. Meu pé quase parará de doer.
— Então morte a Cadal também? Não é questão de sacrilégio? As cerimônias são assim tão secretas? É por ser mistério, Belasius, ou por ser ilegal o que fazem?
— É tanto secreto quanto ilegal. Reunimo-nos onde podemos. Esta noite tivemos que usar a ilha; é bastante segura — normalmente ninguém se aproxima dela, numa noite de equinócio. Mas, se isto chegasse aos ouvidos de Budec, haveria dificuldades. O homem que matamos esta noite é um dos homens do Rei; há oito dias que estava preso aqui e os batedores de Budec têm estado à sua procura.
Mas era preciso que morresse.
— Vão encontrá-lo agora?
— Oh, sim, bem distante daqui, na floresta. Pensarão que um porco selvagem o estraçalhou. — Novamente aquele olhar de esguelha. — Poder-se-ia dizer que morreu rápido no fim. Nos velhos tempos, seu umbigo seria aberto e o fariam girar em torno da árvore sagrada até que suas entranhas a tivessem envolvido como a lã de um fuso.
— E Ambrosius sabe disso?
— Ambrosius também é homem do Rei.
Caminhamos alguns passos em silêncio.
— Bem, e o que me vai acontecer, Belasius?
— Nada.
— Não é sacrilégio espreitar os seus segredos?
— Você está bastante seguro — disse ele, seco. — Ambrosius tem um braço longo. Por que olha assim?
Sacudi a cabeça. Não o conseguiria expressar em palavras nem para mim mesmo. Era como se estivesse nu num campo de batalha e de repente alguém me colocasse um escudo na mão. Ele perguntou:
— Você não teve medo?
— Não.
— Pela Deusa! Acho que é verdade. Ambrosius tinha razão, você tem coragem.
— Se tenho, não é exatamente da espécie que mereça admiração. Eu costumava pensar que era melhor que os outros meninos, porque não conseguia partilhar ou entender tantos dos seus temores. Tinha os meus próprios, naturalmente, mas aprendi a guardá-los para mim. Creio que era uma espécie de orgulho. Mas agora começo a compreender por que, mesmo quando o perigo e a morte se encontram abertamente no meu caminho, passo direto por eles.
Ele parou. Estávamos quase no pinheiral.
— Por quê?
— Porque não se destinam a mim. Receio por outros homens, mas nunca por mim mesmo de igual forma. Ainda não. Creio que o que os homens temem é o desconhecido. Temem a dor e a morte, porque podem estar emboscadas em qualquer canto. Mas há vezes em que sei o que se esconde à espera ou — como lhe disse — vejo-o no meio do caminho. E sei onde se encontram a dor e o perigo para mim, e sei que a morte ainda está distante; assim, não preciso temer. Isto não é coragem.
Ele disse lentamente:
— É. Eu sabia que você possuía vidência.
— Só às vezes e à vontade do deus e não à minha. — Eu já falara demais; ele não era homem com quem se compartilhasse os nossos deuses. Falei rápido para mudar o assunto. — Belasius, você precisa ouvir-me. Nada disso é culpa de Ulfin. Ele recusou-se a contar-nos o que quer que fosse e ter-me-ia impedido, se pudesse.
— Você quer dizer que, se há alguma coisa a pagar, você se oferece para fazê-lo?
— Bem, parece-me apenas justo, e afinal de contas posso dar-me a esse luxo. — Ri para ele, seguro por trás do meu escudo invisível.
— O que vai ser? Uma religião antiquada como a sua deve ter algumas penalidades menores de reserva? Morrerei de cãibras durante o sono de hoje à noite, ou serei estraçalhado por um porco selvagem na próxima vez que cavalgar pela floresta sem o meu cão preto?
Ele sorriu pela primeira vez.
— Não pense que vai escapar tão facilmente. Tenho uma utilidade para essa sua Vidência, pode estar certo. Ambrosius não é o único que se utiliza dos homens pelo que valem, eu também pretendo usá-lo. Você me disse que foi trazido aqui esta noite; foi própria Deusa que o conduziu e para a Deusa você irá. — Passou o braço pelos meus ombros. — Você vai pagar pelo serviço desta noite, Merlin Emrys, numa moeda que a agrade. A Deusa vai caçá-lo como faz com todos os homens que espreitam seus mistérios — mas não para destruí-lo. Oh, não; não Acteon, meu eficiente sábio, mas Endymion. Ela o envolverá no seu abraço. Em outras palavras, você vai estudar até que eu possa levá-lo ao santuário para apresentá-lo.
Eu gostaria de ter respondido: — Nem que você enrolasse meus intestinos em todas as árvores da floresta, mas mantive-me calado. Tome o poder onde lhe é oferecido, dissera ele, e — recordando minha vigília junto ao freixo — havia um certo tipo de poder ali. Veríamos. Desvencilhei-me, mas com delicadeza, do braço que me envolvia os ombros e rumei para o pinheiral.
Se Ulfin aparentara medo antes, agora estava quase mudo de terror ao me ver com o seu amo e perceber onde eu estivera.
— My lord... pensei que ele tivesse ido para casa... Verdade, my lord, Cadal disse...
— Dê-me a capa — disse Belasius — e ponha isto na mochila.
Atirou a veste branca que carregava. Ela caiu molemente, abrindo-se, junto à árvore onde Aster estava amarrado e, ao cair, o pônei empinou e resfolegou. A princípio pensei que a causa fosse aquele pano branco fantasmagórico aos seus pés, mas vi então, mesmo disfarçados pela escuridão do pinheiral, as manchas e respingos, e senti o cheiro de fumaça e sangue fresco mesmo de onde eu estava. Ulfin ofereceu a capa mecanicamente.
— My lord... — A sua respiração era entrecortada pelo medo e o esforço de segurar o cavalo irrequieto. — Cadal levou o cavalo carga. Pensamos que my lord Merlin tivesse voltado para a cidade, verdade, senhor, eu próprio estava certo de que ele seguira naquela direção. Não lhe contei nada. Juro...
— Há uma mochila na égua de Cadal. Ponha-a lá. — Belasius aceitou a capa e prendeu-a, estendendo a mão para as rédeas. — Deme-as.
O menino obedeceu, tentando, não apenas desculpar-se, mas me medir a intensidade da raiva de Belasius.
— My lord, por favor me acredite, eu nada disse. Juro por todos os deuses que existem.
Belasius ignorou-o. Eu sabia o quanto ele podia ser cruel; de fato, em todo o tempo que o conheci, nunca sequer o vi pensar na ansiedade ou na dor dos outros: mais exatamente, nunca lhe ocorreu que esses sentimentos pudessem existir, mesmo num homem livre. Ulfin deveria ter-lhe parecido naquele momento menos real que o cavalo que segurava. Montou com desenvoltura, dizendo secamente:
— Para trás. — E para mim: — Pode controlar a égua a galope?
Precisamos estar de volta antes de Cadal dar por sua falta e pôr o palácio em polvorosa.
— Posso tentar. E Ulfin?
— O que tem ele? Levará o pônei para casa, naturalmente.
Deu meia-volta ao cavalo e saiu cavalgando entre os ramos dos pinheiros. Ulfin já correra para embrulhar as roupas sujas de sangue, e metê-las na mochila da égua. Corria agora para oferecer-me seu ombro e de alguma forma, entre os dois, consegui trepar na sela e acomodar-me. O menino recuou, silencioso, mas senti que tremia. Suponho que para um escravo era normal ter medo. Ocorreu-me que sentia medo até mesmo de levar o meu pônei para casa sozinho, pela floresta.
Firmei-me nas rédeas por um momento e curvei-me para ele.
— Ulfin, ele não está zangado com você; nada acontecerá. Juro. Não precisa ter medo.
— O senhor... viu alguma coisa, my lord?
— Nadinha. — Quanto ao que interessava, essa era a verdade. Encarei-o, sério. — Luzes na escuridão — disse eu — e uma lua inocente. Mas o que quer que pudesse ter visto, Ulfin, não faria diferença. Vou ser iniciado. Está compreendendo por que é que ele não está aborrecido? É só isso. Aqui, tome isto.
Desembainhei minha adaga e atirei-a de ponta nas agulhas dos pinheiros.
— Se o deixa mais tranqüilo... — disse eu — mas não vai ter necessidade dela. Pode ter certeza. Eu sei. Leve o meu pônei com cuidado, sim?
Cutuquei a égua nas costelas e fui ao encontro de Belasius.
Ele estava à minha espera — o que quer dizer que seguia num meio galope lento, que acelerou para um galope total quando o alcancei. A égua castanha corria atrás dele. Segurei-me na alça do seu pescoço, agarrando-me como um ouriço.
A trilha era bastante desimpedida para permitir-nos vê-la com segurança, à claridade do luar. Cortava caminho pela floresta, morro acima, até uma crista de onde se podia ver momentaneamente o brilho das luzes da cidade. Então descia outra vez e em pouco tempo saíamos da floresta, para as planícies salgadas que beiram o mar.
Belasius não afrouxou nem falou. Eu agarrava-me e observava a trilha por sobre o pescoço da égua e imaginava se encontraríamos Cadal voltando à minha procura, com uma escolta ou sozinho.
Atravessamos um riacho, que cobria as patas dos cavalos, passamos por uma trilha, batida ao longo da turfa plana, e viramos à direita, em direção à estrada principal. Sabia onde estávamos agora; no caminho de ida eu reparara nessa trilha, que saía pela orla da floresta pouco antes da ponte. Em poucos minutos alcançaríamos a ponte e a estrada principal.
Belasius afrouxou o passo do cavalo e espiou por sobre o ombro. A égua emparelhou, e ele, erguendo a mão, parou. Os cavalos foram-se refreando até caminharem a passo.
— Ouça.
Cavalos. Uma porção deles vindo a trote rápido pela estrada pavimentada. Rumo à cidade.
Uma voz de homem ergueu-se por um momento. Pela ponte surgia uma nuvem de archotes balouçantes, e vimo-los, então, uma tropa cavalgando enfileirada. À luz dos archotes distinguia-se o dragão vermelho no estandarte.
A mão de Belasius desceu com força sobre as minhas rédeas e os nossos cavalos pararam.
— Homens de Ambrosius — disse ele, ou pelo menos foi o que começou a dizer, quando, claro como um canto de galo, minha égua relinchou e um cavalo da tropa respondeu.
Alguém gritou uma ordem. A tropa fez alto. Outra ordem e os cavalos partiram a galope na nossa direção. Ouvi Belasius praguejar entre dentes, soltando minhas rédeas.
— Aqui nos separamos. Agüente-se firme agora, e cuidado com a língua. Nem mesmo o braço de Ambrosius poderá protegê-lo de uma maldição.
Chicoteou minha égua nas ancas. Ela pulou à frente, quase me desequilibrando. Eu estava ocupado demais para observá-lo, mas às nossas costas ouvi um espadanar e uma corrida quando o cavalo preto transpôs o riacho e desapareceu na floresta, segundos antes de os soldados me encontrarem e fazerem a volta para escoltarem-me até o seu oficial.
O potro cinzento inquietava-se ao brilho dos archotes sob o estandarte. Um dos meus acompanhantes apanhou o freio da égua e levou-me à frente. Fez continência.
— Só há um, senhor. Não está armado.
O oficial afastou seu visor. Olhos azuis arregalaram-se e a inesquecível voz de Uther exclamou:
— Tinha de ser você, naturalmente. Bem, Merlin, o bastardo, o que está fazendo aqui sozinho, e onde esteve?
NÃO RESPONDI DE IMEDIATO. Não sabia quanto deveria contar. Para qualquer oficial eu poderia ter dito uma meia-verdade fácil e rápida, mas Uther provavelmente me faria passar um mau pedaço, a mim e a qualquer pessoa que tivesse estado presente a uma reunião tanto secreta quanto ilegal; Uther não era "qualquer oficial", era perigoso. Não que houvesse alguma razão para proteger Belasius, mas eu não devia informações ou explicações a ninguém a não ser Ambrosius. Em qualquer caso, desviar-me da raiva de Uther era coisa que me ocorria naturalmente.
Então fitei-o nos olhos com o que eu esperava fosse uma expressão de franqueza.
— Meu pônei ficou manco, senhor, por isso deixei-o com o meu criado, para que o conduzisse à casa, e apanhei seu cavalo para regressar. — Quando ele abriu a boca para falar, ergui o escudo invisível que Belasius me pusera nas mãos. — Geralmente seu irmão manda buscar-me depois da ceia, e eu não quis fazê-lo esperar.
Suas sobrancelhas cerraram-se à menção de Ambrosius, mas tudo o que ele disse foi:
— Por que aquele caminho a essa hora? Por que não pela estrada?
— Já havíamos penetrado um tanto pela floresta quando Aster se machucou. Viramos para leste na encruzilhada da trilha madeireira, e havia um caminho que saía para o sul, que nos pareceu mais curto, de modo que o tomamos. O luar facilitou-nos a visibilidade.
— Que caminho era esse?
— Não conheço a floresta, senhor. Subia uma colina e passava por um vau cerca de uma milha rio abaixo.
Ele me fitou por um momento franzindo o cenho.
— Onde deixou seu criado?
— Já na segunda trilha. Queríamos ter certeza do caminho antes que ele me deixasse prosseguir sozinho. A essa hora deverá estar subindo a colina, ao que suponho.
Eu rezava, confusa mas sinceramente, para o deus que pudesse estar-me ouvindo, para que Cadal não estivesse nesse momento voltando da cidade à minha procura.
Uther encarou-me sentado no cavalo irrequieto, como se este não existisse. Era a primeira vez que eu percebia como se parecia com o irmão. E pela primeira vez também reconhecia nele algo como uma força e compreendia, jovem como era, o que Ambrosius me dissera a propósito do seu brilhantismo como oficial. Ele sabia julgar homens. Eu sentia que me traspassava com o olhar, farejando uma mentira, não sabendo onde ou por quê, mas imaginando. E decidido a descobrir...
Por uma vez ele falou cortesmente, sem calor, sem exaltação e até mesmo carinhoso:
— Você está mentindo, não está? Por quê?
— É verdade, my lord. Se der uma olhada no meu pônei quando chegar...
— Oh, sim, isto é verdade. Não tenho dúvidas de que o encontrarei manco. E, se mandar meus homens de volta pela trilha, eles encontrarão Cadal conduzindo-o para casa. Mas o que quero saber...
Eu disse rápido:
— Não Cadal, my lord; Ulfin. Cadal tinha outras tarefas e Belasius mandou Ulfin comigo.
— Dois da mesma laia? — As palavras eram desdenhosas.
— My lord?
Sua voz quebrou subitamente, de raiva:
— Não faça jogo de palavras comigo seu pederastazinho. Você está mentindo a respeito de alguma coisa e quero saber o que é. Posso farejar uma mentira a uma milha de distância. — Então olhou por cima de mim e a voz mudou. — O que é isso na mochila?
— Um aceno de cabeça para um dos soldados que me ladearam. Uma ponta da roupa de Belasius estava de fora. O homem meteu as mãos na mochila e puxou-a para fora. No branco sujo e amarrotado as manchas destacavam-se escuras, sem deixar dúvidas. Eu sentia o cheiro de sangue, apesar da resina borbulhante das tochas.
Atrás de Uther, os cavalos resfolegavam e agitavam as cabeças, farejando, e os homens entreolharam-se. Vi os archoteiros olharem-me de esguelha e o guarda ao meu lado murmurar alguma coisa entre dentes.
Uther exclamou com violência:
— Por todos os deuses, então era isso! Um deles, por Mithras! Eu deveria ter adivinhado, posso farejar a fumaça sagrada em você, de onde estou! Muito bem, bastardo, você, que é tão livre com o nome do meu irmão e tão alto no seu conceito, veremos o que ele vai pensar disso. O que tem a dizer em sua defesa, agora? Não adianta negar, adianta?
Ergui a cabeça. Sentado na enorme égua, eu podia encará-lo quase ao nível dos olhos.
— Negar? Nego que tenha violado a lei ou feito qualquer coisa que o Conde não aprove, e estas são as únicas duas coisas que importam, my lord Uther. Explicarei a ele.
— Por Deus, que você explicará! Então Ulfin levou-o lá?
Respondi, brusco:
— Ulfin nada tem a ver com isso. Eu já o deixara. De qualquer forma, ele é um escravo e faz o que lhe mando.
Ele esporeou o cavalo com violência para junto da égua. Curvou-se para a frente, agarrando as dobras da minha capa na altura do meu pescoço e apertando-as até quase levantar-me da sela. Seu rosto avançou para o meu, o joelho coberto de metal magoou-me a perna, enquanto os cavalos dançavam encostando-se lado a lado.
— E você faz o que eu mando, ouviu? O que quer que você seja do meu irmão, vai-me obedecer também. — Apertou-me ainda mais, sacudindo-me. — Entendeu, Merlin Emrys?
Assenti. Ele praguejou, quando meu broche o arranhou, e largou-me. Escorria um filete de sangue na sua mão. Vi que olhava meu broche. Estalou os dedos para o archoteiro e o homem acercou-se, erguendo a chama mais alto.
— Ele deu-lhe isso para usar? O dragão vermelho?
Então parou quando o seu olhar bateu no meu rosto e aí se fixou, encarando-me, esbugalhando-se. O azul intenso parecia faiscar. O potro cinzento dançou para o lado e ele refreou-o, fazendo-o espumar.
— Merlin Emrys... — Repetiu ele, desta vez para si mesmo, tão baixinho, que mal ouvi. Então, de repente, soltou uma gargalhada, divertida, alegre e gostosa, que não se parecia com coisa alguma que eu tivesse ouvido antes.
— Bem, Merlin Emrys, ainda terá que prestar contas a ele pelo que andou fazendo e por onde esteve esta noite! — Deu meia-volta ao cavalo, dirigindo-se aos seus homens, por cima do ombro. — Tragam-no conosco e cuidem para que não caia. Parece que meu irmão gosta muito dele.
O cavalo cinzento pulou ao ser esporeado, e a tropa acompanhou-o. Meus captores, ainda a segurar o freio da égua castanha, avançaram também, mantendo-me entre eles.
As vestes de druida foram largadas, pisoteadas no chão, por onde a tropa passara. Eu não sabia se Belasius a veria e entenderia o aviso.
Então esqueci-o. Ainda teria de enfrentar Ambrosius.
Cadal estava no meu quarto. Exclamei, aliviado:
— Bem, graças aos deuses, você não voltou para buscar-me. Fui apanhado pelo grupo de Uther e ele está furioso porque sabe aonde fui.
— Eu sei — disse Cadal, sombrio. — Eu vi.
— O que quer dizer?
— Voltei para procurá-lo. Estava seguro de que você tivera o bom senso de correr para casa quando ouviu aquele... barulho, de modo que segui no seu encalço. Quando não o encontrei no caminho, pensei que tivesse desenvolvido boa velocidade com a égua... o chão chegava a fumegar sob mim, posso garantir-lhe! Então, quando...
— Você adivinhou o que estava acontecendo? Onde estava Belasius?
— É. — Ele virou a cabeça para cuspir no chão, controlou-se e fez o sinal contra o mau-olhado. — Bem, quando voltei aqui e não vi sinal de você, compreendi que devia ter descido direto para ver o que acontecia. Tolinho despótico! Podia ter sido morto, metendo-se com essa gente.
— E você também. Mas voltou.
— Que mais podia fazer? E devia ter ouvido os nomes que lhe chamei também. Pestinha incômoda foi o menor deles. Bem, eu já estava a meia milha fora da cidade quando vi que eles vinham e afastei-me para o lado para esperar que passassem. Sabe aquele velho posto de trocas em ruínas? Eu estava lá. Observei-os passar e descobri você atrás, sob guarda. Então, percebi que ele devia saber. Segui-os de volta à cidade o mais próximo que ousei, e cortei pelas ruas laterais direto para casa. Acabei de chegar. Ele descobriu tudo?
Assenti, começando a soltar a capa.
— Então vai haver o diabo, não tenha dúvida — disse Cadal.
— Como foi que descobriu?
— Belasius mandou colocar a veste branca dele na minha mochila e eles a encontraram. Pensaram que era minha. — Sorri. — Se a tivessem experimentado em mim, seriam obrigados a pensar novamente. Mas isto não lhes ocorreu. Largaram-na na lama e passaram por cima.
— E fizeram bem. — Ele abaixara-se sobre um joelho para desamarrar minhas sandálias. Parou com uma sandália na mão. — Você time dizendo que Belasius o viu? Falou com você?
— Sim. Esperei por ele e caminhamos juntos até os cavalos. Ulfin vem trazendo Aster, por falar nisso.
Ele ignorou a informação. Seus olhos estavam arregalados e achei que ele tinha perdido a cor.
— Uther não viu Belasius — disse eu. — Belasius desviou-se a tempo. Sabia que eles tinham ouvido só um cavalo, de modo que mandou-me seguir ao encontro deles. Caso contrário, suponho que teriam vindo ao nosso encalço. Deve ter esquecido que eu trazia a roupa ou então contou com a possibilidade de que não fosse encontrada. Qualquer outro que não Uther nem se daria ao trabalho de olhar.
— Você nunca deveria ter-se aproximado de Belasius. É pior do que eu pensei. Aqui, deixe-me fazer isso. Suas mãos estão frias.
— Retirou o broche do dragão e tirou minha capa. — Se quiser olhar, olhe. Ele é uma bisca ruim, todos eles são, e ele é o pior.
— Você sabia de tudo sobre ele?
— Mesmo que não soubesse, teria sido fácil adivinhar. Está bem de acordo com a pessoa, se me pergunta. Mas o que eu quis dizer foi que eles são gente ruim de se lidar.
— Bem, ele é o arquidruida ou pelo menos o chefe da seita, portanto deve ter influência. Não fique tão preocupado, Cadal, duvido de que ele me vá fazer mal ou deixar que alguém o faça.
— Ele ameaçou você?
Ri.
— Sim. Com uma maldição.
— Dizem que essas coisas pegam. Dizem que os druidas podem atirar uma faca que o perseguirá dias seguidos, e você só percebe um zumbido de ar nas suas costas antes de ela o atingir.
— Dizem toda a espécie de coisas. Cadal, tenho outra túnica decente? Aquela melhor já voltou da limpeza? E quero um banho antes de ir ver o Conde.
Ele me olhou de lado enquanto apanhava uma outra túnica na arca de roupas.
— Uther deve ter ido direto a ele. Sabe?
Eu ri.
— Naturalmente. Previno-o de que vou contar a verdade a Ambrosius.
— Toda?
— Toda.
— Bem, suponho que é o melhor — comentou ele. — Se alguém pode protegê-lo...
— Não é isso. É simplesmente porque ele deve saber. Tem o direito. Além do mais, o que tenho a esconder?
Ele disse, inquieto:
— Eu estava pensando na maldição... Mesmo Ambrosius talvez não possa protegê-lo disso.
— Oh, isto para a maldição. — Fiz um gesto pouco comum nas casas nobres. — Esqueça-a. Nem você, nem eu procedemos mal e recuso-me a mentir para Ambrosius.
— Algum dia ainda vou vê-lo apavorado, Merlin.
— Provavelmente.
— Você não teve medo nem de Belasius?
— Deveria ter? — Interessei-me. — Ele não me fará mal. — Desenganchei o cinto da túnica e atirei-o na cama. Olhei para Cadal.
— Você teria medo se conhecesse o seu próprio fim, Cadal?
— Sim, pelo cão! Você conhece?
— Às vezes, em relances. Às vezes, eu vejo. E isso me enche de medo.
Ele ficou parado, olhando para mim, e havia medo no seu rosto.
— Qual é, então?
— Uma gruta. A gruta de cristal. Às vezes, penso que é a morte, e outras, nascimento, ou um portal de visão, ou o limbo escuro do sono... Não sei dizer. Mas alguma dia saberei. Até então, suponho que não receie muito mais. Irei para a gruta quando o fim chegar, como você...
— Como eu o quê? — perguntou ele, rápido. — Que me acontecerá?
Sorri.
— Eu ia dizer como você chegará à idade avançada.
— É mentira — disse ele, brusco. — Vi seus olhos. Quando você tem visões, seus olhos ficam estranhos; já reparei antes. O preto se espalha e fica como que toldado, sonhador... mas não suave, não, todo o seu olhar se torna frio, como o ferro, como você nem soubesse, nem se importasse com o que está acontecendo à sua volta. E fala como se fosse apenas uma voz e não uma pessoa... Ou como se tivesse ido para outro lugar e emprestado seu corpo para alguém falar através dele. Como uma trompa soando soprada para transmitir o som. Oh! Eu sei que só vi umas luas vezes, por instantes, mas é fantástico e me amedronta.
— Amedronta-me também, Cadal. — Eu deixara a túnica verde escorregar do corpo para o chão. Ele segurava a roupa de lã cinzenta que eu usava para dormir. Apanhei-a distraidamente e sentei-me à beira da cama, a camisa caindo-me pelos joelhos. Falava mais comigo mesmo do que com Cadal. — Amedronta-me também. Você tem razão, é assim que me sinto, como se fosse uma concha vazia e alguma coisa trabalhasse por meu intermédio. Digo coisas, vejo coisas, penso coisas até o momento que desconheço. Mas você está errado em pensar que não sinto. Magoa-me. Acho que isto deve ser porque não consigo controlar o que fala através de mim... Quero dizer, não sei comandá-lo ainda. Mas saberei, um dia. Tenho certeza disso também. Algum dia comandarei esta parte de mim que sabe e vê, este deus, e terei realmente o poder. Saberei quando o que eu predisser é instinto humano e quando é o reflexo de Deus.
— E quando você falou do meu fim, o que era?
Ergui os olhos. Estranho, mas era menos fácil mentir a Cadal do que o fora para Uther.
— Mas eu não vi sua morte, Cadal, e a de ninguém, exceto a minha. Eu estava sendo indelicado. Ia dizer: "Assim como você terminará num túmulo estrangeiro algures..." — Sorri. — Eu sei que isso é pior que o inferno para um bretão. Mas acho que acontecerá com você... Isto é, se continuar como meu criado.
Seu rosto iluminou-se e ele sorriu. Isto era poder, pensei eu, quando uma palavra minha pode amedrontar assim os homens. Ele disse:
— Oh, farei isso mesmo! Mesmo que ele não me tivesse pedido, eu ficaria. Você tem um jeito fácil que torna um prazer cuidar de você.
— Tenho mesmo? Pensei que você me achava um tolinho despótico, e uma pestinha ainda por cima!
— Aí está, como vê. Nunca teria coragem de dizer isso a ninguém da sua classe, e tudo o que você faz é rir-se, e você é duas vezes real.
— Duas vezes real? Mal pode contar meu avô e minha... Parei. O que me fizera parar estava no seu rosto. Ele falara sem refletir, então, ofegante, tentara obrigar as palavras a voltarem para a boca e dá-las por não ditas.
Calou-se e ficou ali com a túnica suja nas mãos. Ergui-me lentamente, a camisa esquecida no chão. Não havia necessidade de falar. Eu sabia. Não conseguia imaginar como não percebera antes, no momento em que me encontrava diante de Ambrosius no campo gelado, e ele me encarara à luz dos archotes. Ele soubera então. E uma centena de outros deveriam ter adivinhado. Lembrei-me agora dos olhares de esguelha dos homens, dos sussurros dos oficiais, da deferência dos criados que eu tomara por respeito às ordens de Ambrosius, mas que percebia agora serem uma deferência ao filho de Ambrosius.
O quarto estava silencioso como uma gruta. O braseiro tremeluzia e sua luz entrecortava-se, refletindo no espelho de bronze na parede. Olhei para ele. No bronze iluminado, meu corpo despido parecia miúdo e sombreado, uma coisa irreal produzida pelo fogo, as trevas a moverem-se à medida que as chamas se moviam. Mas o rosto estava iluminado, e nos seus planos bem delineados de luz e sombra vi o rosto dele como o vira no seu quarto, quando ele estava sentado junto ao braseiro esperando que me trouxessem. Esperando que eu chegasse para perguntar-me por Niniane.
E aqui novamente a Vidência não me ajudara. Os homens que têm a visão de Deus, descobri, são com freqüência humanamente cegos.
Perguntei a Cadal:
— Toda a gente sabe?
Ele assentiu. Não me perguntou o que eu queria dizer.
— Correm rumores. Você se parece muito com ele, às vezes.
— Creio que Uther talvez tenha percebido. Ele não sabia antes?
— Não. Partiu antes que os boatos se espalhassem. Não foi por isso que se pôs contra você.
— Fico satisfeito em ouvir isso. O que foi então? Só porque o deixei impressionado com aquela história da pedra aprumada?
— Oh, isso e outras coisas.
— Tais como?
Cadal respondeu rudemente:
— Ele pensou que você era o pederasta do Conde. Ambrosius não gosta muito de mulheres. Não gosta de meninos tampouco, mas uma coisa que Uther não pode compreender é um homem que não esteja entrando e saindo da cama de alguém sete noites por semana. Quando o irmão se preocupou tanto com você, trouxe-o para casa e mandou-me atendê-lo e tudo o mais, Uther julgou que isso era o que devia estar acontecendo e não gostou nem um pouquinho.
— Sei. Ele disse uma coisa assim hoje à noite, mas pensei que fosse apenas porque perdera as estribeiras.
— Se ele se tivesse dado ao trabalho de olhar para você, ou ouvir o que toda a gente dizia, teria sabido bem depressa.
— Ele sabe agora. — Afirmei com certeza absoluta e repentina. — Ele viu lá na estrada quando bateu os olhos no broche de dragão que o Conde me deu. Eu nunca pensei nisso, mas naturalmente ele compreendeu que o Conde não iria colocar o escudo real no seu pederasta. Mandou trazer a tocha para mais perto e olhou bem para mim. Acho que viu então. — Um pensamento assaltou-me. — E acho que Belasius sabe.
— Oh, sim, — disse Cadal — ele sabe. Por quê?
— A maneira como falou... Como se soubesse que não devia ousar tocar-me. Teria sido por isso que tentou apavorar-me com a ameaça da maldição. Ele é bem calculista, não é? Deve ter refletido um bocado, a caminho do pinheiral. Não tinha coragem de me remover do caminho por sacrilégio, mas precisava fazer-me calar de alguma forma. Daí a maldição. E também... — Parei.
— E também o quê?
— Não fique tão assustado. Foi apenas mais uma garantia para que eu segurasse a língua.
— Pelo amor dos deuses, o quê?
Estremeci e, percebendo que ainda me encontrava nu, apanhei a camisa outra vez.
— Disse que me levaria com ele ao santuário. Creio que gostaria de me transformar num druida.
— Ele disse isso? — Eu já me estava habituando ao sinal de Cadal para espantar o mau-olhado. — O que vai fazer?
— Eu irei com ele... uma vez, pelo menos. Não olhe assim, Cadal. Não há uma chance em mil de que eu queira ir mais de uma vez. — Encarei-o sério. — Mas não há nada neste mundo que eu não esteja pronto a ver e aprender, e nenhum deus que eu não esteja pronto a abordar à sua maneira. Disse-lhe que a verdade era a sombra de Deus. Se devo usá-la, preciso saber quem Ele é. Compreende?
— Como poderia? De que deus está falando?
— Creio que há apenas um. Oh, há deuses em toda a parte, nas montanhas ocas, no vento e no mar, e na própria relva que pisamos e no ar que respiramos, e nas sombras tintas de sangue, onde homens como Belasius esperam por eles. Mas acredito que leva haver um que é o Próprio Deus, como o grande mar, e todos nós, pequenos deuses e homens e tudo o que existe, todos chegamos a Ele, no fim, como rios. — O banho está pronto?
Vinte minutos mais tarde, numa túnica azul-escuro presa ao ombro pelo broche de dragão, fui ver meu pai.
O SECRETÁRIO ENCONTRAVA-SE no vestíbulo, meticulosamente ocupado em não fazer nada. Do outro lado da cortina, ouvi a voz de Ambrosius, em tom baixo. Os dois guardas à porta pareciam de madeira.
Então a cortina afastou-se e Uther saiu. Quando me viu, parou sobre os calcanhares como se fosse falar, mas percebendo o olhar interessado do secretário, prosseguiu com um silvo da capa vermelha, que recendia a cavalos. Sempre se podia dizer onde Uther estivera; parecia absorver odores como uma esponja. Devia ter procurado o irmão antes mesmo de lavar-se, quando chegou.
O secretário, cujo nome era Sollius, disse-me:
— Talvez seja melhor entrar logo, senhor. Ele está a sua espera.
Mal notei o "senhor". Parecia-me algo a que já estivesse acostumado. Entrei.
Ele estava de pé junto à mesa, de costas para a porta. Esta encontrava-se juncada de tabuinhas, e sobre uma delas uma pena, como se ele tivesse sido interrompido, quando escrevia. Na mesa do secretário, junto à janela, um livro semi-desenrolado como fora largado.
A porta fechou-se à minha passagem. Parei, mal entrara, e a cortina de couro baixou farfalhando. Ele voltou-se.
Nossos olhos se encontraram em silêncio, durante o que me pareceram segundos intermináveis, então ele pigarreou e disse:
— Ah, Merlin! — e com um ligeiro aceno da mão acrescentou: — Sente-se.
Obedeci atravessando a sala para o meu banquinho costumeiro junto ao fogo. Ele permaneceu silencioso por mais uns instantes, olhos voltados para a mesa. Apanhou a pena, contemplando a cera distraidamente e acrescentou uma palavra. Esperei. Franziu a testa ao que escrevera, riscou novamente e então atirou a pena sobre a mesa e disse abruptamente: — Uther veio-me ver.
— Sim, senhor.
Fitou-me com o cenho franzido:
— Soube que ele o encontrou cavalgando sozinho longe da cidade.
Eu disse rápido:
— Não saí sozinho. Cadal estava comigo.
— Cadal?
— Sim, senhor.
— Não foi o que você disse a Uther.
— Não, senhor.
Seu olhar tornou-se penetrante, atento.
— Bem, prossiga.
— Cadal sempre me acompanha, my lord. Ele é... mais do que fiel. Seguimos para o norte até a trilha madeireira na floresta e pouco depois meu pônei ficou manco. Aí Cadal cedeu-me sua égua e iniciamos o percurso de volta... — Tomei fôlego. — Seguimos por um atalho e encontramos Belasius e seu criado. Belasius cavalgou parte do caminho comigo, mas... não lhe era conveniente encontrar-se com o Príncipe Uther, portanto, deixou-me.
— Sei. — Sua voz não demonstrava nada, mas eu tinha a impressão de que ele sabia muito. A pergunta seguinte confirmou-o. — Você foi à ilha dos druidas?
— O senhor sabe disso? — perguntei surpreso. Então, como ele não respondesse, aguardando num silêncio gélido que eu falasse, continuei: — Disse-lhe que Cadal e eu tomamos um atalho pela floresta. Se o senhor conhece a ilha, deve saber qual a trilha que seguimos. Ali onde desce para o mar há um pinheiral. Encontramos Ulfin, o criado de Belasius, com os dois cavalos. Cadal queria levar o cavalo de Ulfin e trazer-me para casa depressa, mas enquanto falávamos com Ulfin ouvimos um grito, um berro de algum lugar a leste do pinheiral. Fui ver. Juro que não fazia idéia de que existia uma ilha ou do que ocorria ali. E tampouco Cadal, e se ele estivesse montado teria me impedido. Mas quando apanhou o cavalo de Ulfin e partiu no meu encalço, eu já não estava à vista e julgou que eu, assustado, correra para casa conforme me recomendara, e só quando chegou aqui descobriu que eu não viera para estes lados. Voltou para buscar-me, mas por essa altura eu vinha com a tropa. — Deixei cair as mãos entre os joelhos, apertando-as. com força. — Não sei o que me fez cavalgar até a ilha. Sei que foi o grito que me fez ir ver... Mas não foi só por causa do grito. Não sei explicar, ainda não... — Tomei fôlego. — My lord...
— Bem?
— Preciso contar-lhe. Um homem foi morto na ilha esta noite. Não sei quem, mas ouvi dizer que era um homem do Rei, desaparecido há alguns dias. Seu corpo será encontrado na floresta como se um animal selvagem o tivesse matado. — Fiz uma pausa. Não percebia nada no seu rosto. — Pensei que o senhor devia saber.
— Você foi até a ilha?
— Oh, não! Duvido de que eu ainda vivesse se tivesse ido. Foi depois que descobri sobre o homem morto. Sacrilégio, disseram-me. Não perguntei. — Ergui os olhos para ele. — Só cheguei até a praia. Esperei ali entre as árvores e pus-me a olhar a dança e a oferenda. Ouvi os cantos. Não sabia então que era ilegal... Em minha terra é proibido, naturalmente, mas sabe-se que continua, e pensei que poderia ser diferente aqui. Mas, quando my lord Uther soube onde eu estivera, ficou muito zangado. Ele parece odiar os druidas.
— Os druidas? — Sua voz parecia ausente agora. Ainda remexia na pena sobre a mesa. — Ah, sim! Uther não morre de amores por eles. É um dos fanáticos de Mithras e a luz é inimiga das trevas, suponho. Bem, o que é? — perguntou bruscamente a Sollius, que entrava com uma desculpa e aguardava no umbral da porta.
— Perdoe-me, senhor — disse o secretário. — Há um mensageiro do rei Budec. Disse-lhe que o senhor estava ocupado, mas ele afirma que é importante. Mando-o esperar?
— Traga-o aqui — disse Ambrosius.
O homem entrou com um pergaminho. Entregou-o a Ambrosius que, sentado na grande cadeira, abriu-o. Leu, franzindo o cenho, Eu o observava. As chamas trêmulas do braseiro espalharam-se iluminando os planos do seu rosto, que já me pareciam tão conhecidos quanto o meu próprio. O centro do braseiro cintilava e a luz espalhou-se e piscou. Senti-a cobrir-me os olhos que se toldavam e se abriam desmesurados...
— Merlin Emrys? Merlin?
O eco foi-se transformando numa voz normal. A visão desapareceu. Eu estava sentado no banquinho na sala de Ambrosius, olhando para as minhas mãos a comprimirem os joelhos. Ambrosius se erguera e curvava-se para mim, interpondo-se ao fogo. O secretário saíra e estávamos a sós.
A repetição do meu nome pisquei, voltando a mim.
Ele falava:
— O que está vendo ali no fogo?
Respondi sem erguer os olhos.
— Um arvoredo de espinheiros na encosta de uma colina, uma moca num pônei castanho e um rapaz com um broche de dragão ombro, com o nevoeiro à altura dos joelhos.
Ouvi-o dar um longo suspiro. Então sua mão baixou e, tomando-me pelo queixo, voltou meu rosto para si. Seus olhos estavam atentos e arrebatados.
— É verdade então essa sua Vidência. Eu estava tão certo e agora... agora já não resta dúvida. Suspeitei de que assim fosse naquela primeira noite junto à pedra aprumada, mas aquilo poderia ter sido qualquer coisa... um sonho, uma história de criança, uma adivinhação feliz para ganhar o meu interesse. Mas isto... Eu acertei a seu respeito. — Retirou a mão do meu rosto e endireitou-se. _ Você viu o rosto da moça?
Assenti.
— E o do homem? Fitei-o nos olhos.
— Sim, senhor.
Ele afastou-se bruscamente, voltando as costas para mim, a cabaça curvada. Mais uma vez apanhou a pena na mesa, virando-a e revirando-a entre os dedos. Passados uns momentos, perguntou:
— Há quanto tempo sabe?
— Somente desde hoje à noite. Foi algo que Cadal disse; lembrei-me de certas coisas e do espanto do seu irmão esta noite quando me viu usando isto. — Toquei no broche de dragão que trazia ao pescoço.
Ele olhou e acenou com a cabeça.
— foi esta a primeira vez que teve essa....visão?
— Foi. Eu não fazia idéia. Agora parece-me estranho que eu nunca tenha suspeitado... mas juro que não.
Ele ficou silencioso, a mão espalmada sobre a mesa, servindo apoio. Não sei o que eu esperava, mas nunca pensei ver o grande Aurelius Ambrosius sem palavras. Deu uma volta pelo quarto até a Janela e de retorno falou.
— Esta é uma reunião estranha, Merlin. Tanto para dizer e ao mesmo tempo tão pouco. Vê agora por que lhe fiz tantas perguntas? Por que me esforcei tanto para descobrir o que o trouxera aqui?
— Os deuses em ação, my lord, trouxeram-me aqui — disse eu — Por que a abandonou?
Eu não queria que a pergunta saísse tão abrupta, mas suponho que há tanto tempo me afligia, que agora explodia com a força de uma acusação. Comecei a balbuciar alguma coisa, mas ele me interrompeu com um gesto e respondeu sereno.
— Eu tinha dezoito anos, Merlin, e a cabeça a prêmio se pusesse os pés no meu próprio reino. Você conhece o caso — como o meu primo Budec nos acolheu quando meu irmão, o Rei, foi assassinado, e como nunca cessou de desejar vingança contra Vortigern, embora por muitos anos isto parecesse impossível. Mas todo o tempo ele enviou batedores, recebeu relatórios, continuou a planejar. E então, quando fiz dezoito anos, enviou-me em segredo a Gorlois de Cornwall, que era amigo de meu pai e jamais gostara de Vortigern. Gorlois mandou-me ao norte com dois homens de confiança para observar e escutar e fazer o reconhecimento da terra. Algum dia eu lhe contarei aonde fomos e o que aconteceu, mas não agora. O que lhe interessa é isto... Viajamos para o sul quase em fins de outubro, rumo a Cornwall, para tomar o navio de regresso, quando fomos assaltados e tivemos que lutar pelas nossas vidas. Eram homens de Vortigern. Até hoje não sei se suspeitaram de nós ou se nos queriam matar, como fazem os saxões e as raposas, por selvageria e pelo prazer de ver sangue. Creio mais nesta última hipótese, pois do contrário ter-se-iam certificado melhor da minha morte. Mataram meus dois companheiros, mas eu tive sorte, escapei'com uma ferida superficial e uma pancada na cabeça que me prostrou sem sentidos e fui abandonado por morto. Isto foi ao amanhecer. Quando voltei a mim e passei os olhos ao meu redor, era manhã e um pônei castanho erguia-se a um lado com uma moça montada e que olhava de mim para os homens mortos e destes outra vez para mim, sem pronunciar palavra. — O primeiro clarão de um sorriso, nãopara mim, mas para a recordação. — Lembro-me de tentar falar, mas perdera muito sangue e a noite passada no sereno trouxera-me um pouco de febre. Tive medo de que ela se assustasse e galopasse de volta à cidade, terminando tudo. Mas não o fez. Apanhou meu cavalo e as coisas na mochila, deu-me um gole de água, limpou e enfaixou o ferimento, e então, Deus sabe como, através--sou-me na sela do cavalo, levando-me do vale. Havia um lugar, disse-me, próximo à cidade, mas afastado e discreto, aonde ninguém nunca ia. Era uma gruta com uma fonte... O que é?
— Nada — respondi. — Eu devia saber. Continue. Não morava ninguém lá?
— Ninguém. Ao chegarmos lá, suponho que delirasse, não me lembro de nada. Escondeu-me na caverna, e escondeu o meu cavalo.
Havia comida e vinho na minha mochila e eu trazia uma capa e manta. A tarde caía então, e quando ela voltou para casa, ouviu falar que os dois mortos já tinham sido encontrados, com os valos a vagar por perto. A tropa rumara para o norte; não era provável que ninguém da cidade soubesse que deveriam ter sido encontrados três corpos. Portanto, eu estava salvo. No dia seguinte, veio outra vez à gruta com comida e remédios... E no outro lambem. — Ele fez uma Pausa. — E você conhece o resto da história.
— Quando lhe contou quem era o senhor?
— Quando me disse por que não poderia deixar Maridunum e partir comigo. Eu pensara, até então, que ela fosse talvez uma das damas da Rainha — pelas suas maneiras e fala, percebi que deveria ter sido criada na casa do Rei. Talvez ela percebesse o mesmo em mim. Mas não importava. Nada importava, exceto que eu era um homem e ela, uma mulher. Desde o primeiro dia, ambos sabíamos o que aconteceria. Você compreenderá quando for mais velho. — Novamente o sorriso, desta vez tocando-lhe os lábios, e também os olhos. — É um tipo de conhecimento pelo qual terá de esperar, Merlin. A Vidência não o ajudará muito nas questões de amor.
— O senhor pediu a ela que o acompanhasse... que voltasse para cá?
Ele assentiu.
— Mesmo antes de saber quem era. Depois que soube, receando por ela, insisti com mais vigor, mas não consegui convencê-la. Pela maneira de falar eu sabia que odiava e temia os saxões e temia o que Vortingern estava a fazer aos reinos, mas ainda assim não concordou em vir. Uma coisa, afirmou-me ela, era fazer o que fizera, outra era atravessar o mar com um homem que, quando voltasse, teria de ser inimigo do seu pai. Precisamos terminar, disse ela, assim como o ano está terminando, e esquecer.
Ficou calado por um minuto contemplando as mãos. Eu disse:
— E o senhor nunca soube que ela tivera um filho?
— Não. Pensei nisso, naturalmente. Enviei-lhe uma mensagem a primavera seguinte, mas não recebi resposta. Deixei estar então, sabendo que, se me quisesse, saberia, como toda a gente, onde encontrar-me. Então ouvi, quase dois anos depois, que ela estava noiva. Sei agora que isso não era verdade, mas na época serviu para tirá-la do meu pensamento. — Ele olhou para mim. Compreende?
Acenei com a cabeça.
— Pode até ter sido verdade, embora não da maneira como o senhor entendeu, my lord. Ela prometeu-se à Igreja quando eu já não tivesse necessidade dela. Os cristãos chamam a isso de noivado.
— E então? — Ele refletiu por um momento. — O que quer que fosse, não lhe enviei mais mensagens. E quando mais tarde ouvi j menção de uma criança, um bastardo, nem me passou pela cabeça que poderia ser meu. Um homem esteve aqui certa vez, um médico de olhos itinerante que passara por Gales e mandei buscá-lo; interroguei-o e ele confirmou: havia um menino bastardo, no palácio, ] de tal idade, ruivo, e filho do Rei.
— Dinias — disse eu. — Provavelmente não chegou a ver-me. Mantinham-me fora de vista... E meu avô às vezes falava de mim aos estranhos como se eu fosse dele. Tinha alguns espalhados aqui e ali.
— Foi o que soube. Então chegou-me o boato seguinte sobre um menino... talvez um bastardo do Rei, talvez de sua filha... mal dei ouvidos. Passara-se tanto tempo, havia coisas urgentes a | fazer e ainda a mesma idéia; se ela tivera um filho meu, não me mandaria dizer? Se me quisesse, não mandaria recado?
Ele calou-se então, absorto nos próprios pensamentos. Se consegui compreender tudo à medida que ele explicava, não me lembro. Mas, mais tarde, quando os pedaços se encaixaram para formar o mosaico, tudo se tornou bastante claro. O mesmo orgulho que a impedira de partir com o amante, impedira-a também de chamá-lo ao descobrir sua gravidez. E isto ajudou-a nos meses que se seguiram. Mais que isso: se, pela fuga ou qualquer outro meio, ela tivesse revelado quem fora o seu amante, nada teria evitado que seus irmãos viajassem para a corte de Budec e o matassem. Devem ter havido — conhecendo meu avô — juras bastante exaltadas a propósito do que fariam ao homem que gerara esse bastardo. E então o tempo passou e a vinda dele tornou-se algo remoto, e a seguir, impossível, como se fosse realmente um mito, uma recordação na noite. Então o outro grande amor veio substituí-lo, a religião tomou seu lugar e o encontro de inverno foi esquecido. A não ser pela criança, tão parecida com o pai; mas uma vez que o dever dela para com ele terminasse, poderia partir para a solidão e a paz que há muitos anos a fizera cavalgar sozinha pelo vale, como mais tarde eu deveria fazer sozinho o mesmo percurso, procurando talvez as mesmas coisas.
Sobressaltei-me quando ele falou outra vez.
— Foi muito penosa sua vida como filho de pai desconhecido?
— Bastante.
— Você acredita quando eu digo que não sabia?
— Acredito em qualquer coisa que me diga, my lord.
— Você me odeia muito por isso, Merlin? Eu disse lentamente, olhando para as mãos:
— Há uma vantagem em ser bastardo e filho de pai desconhecido. É-se livre para imaginar o próprio pai. Pode-se imaginar o e o melhor; pode-se compor pai para si mesmo à imagem do momento. Desde que me tornei o suficiente grande para compreender o que era, via meu pai em todo soldado, em todo príncipe, em todo padre. E via-o também em todo escravo bonito do reino de Gales do Sul.
Ele falou com suavidade.
— E agora o vê de verdade, Merlin Emrys. E pergunto-lhe se me odeia pela espécie de vida que lhe dei.
Não olhei para ele. Respondi com os olhos postos nas chamas: _ Desde criança tive o mundo inteiro para escolher um pai. De todos, Aurelius Ambrosius, eu teria escolhido o senhor. Silêncio. As chamas pulsavam como um coração. Acrescentei, tentando tornar a coisa leve:
— Afinal, que menino não gostaria de escolher o Rei de toda a Bretanha para pai?
Sua mão apanhou-me pelo queixo outra vez, desviando minha cabeça do braseiro e meus olhos das chamas. A voz dele era incisiva:
— O que foi que você disse?
— O que foi que eu disse? — pisquei para ele. — Disse que teria escolhido o senhor.
Seus dedos apertaram-me o rosto.
— Você me chamou de Rei de toda a Bretanha.
— Chamei?
— Mas isto é... — Ele parou. Seus olhos pareciam queimar-me. Então deixou a mão cair e endireitou-se. Deixe. Se tiver importância, o deus falará novamente. — Sorriu para mim. — O que importa agora é o que você próprio disse. Não é dado a todo homem ouvir isso de um filho crescido. Talvez seja melhor assim, encontrarem-se como homens, quando cada um tem algo a dar ao outro. Para um homem cujos filhos estiveram ao pé de si toda a infância, não é dado ver-se subitamente estampado no rosto de um menino como estou estampado no seu.
— Pareço-me tanto assim?
— Dizem que sim. E vejo bastante de Uther em você para saber por que todos diziam que você era meu.
— Aparentemente ele próprio não viu — disse eu. — Está muito aborrecido com isso ou apenas aliviado em descobrir que afinal não sou pederasta?
— Você sabia disso? — Pareceu divertir-se. — Se ele pensasse com cérebro em vez de pensar com o corpo, estaria melhor. Sabe, trabalhamos muito bem juntos. Ele faz um tipo de trabalho e eu outro, e se eu conseguir tornar o caminho reto, ele me sucederá no trono, se eu não tiver...
Ele mordeu os lábios. No silêncio miúdo e estranho que se seguiu olhei para o chão.
— Perdoe-me. — Ele falava baixinho, de igual para igual. — Falei sem refletir. Por tanto tempo acostumei-me à idéia de não ter um filho!
Ergui os olhos.
— E continua sendo verdade no sentido em que fala. E é certamente a verdade como Uther a vê.
— Então, se você vê da mesma maneira, meu caminho será mais suave.
Ri.
— Não me imagino rei. Meio-rei, talvez, ou mais provavelmente um quarto — o pedacinho que vê e pensa, mas não pode agir. Talvez Uther e eu juntos formemos um, quando o senhor se for? Ele já é mais forte que a vida, não diria?
Mas ele não sorriu. Seus olhos estreitaram-se num olhar atento.
— É como tenho pensado, ou alguma coisa nesse sentido. Percebeu?
— Não, senhor, como poderia? — Aprumei-me no banquinho ao dizer: — Foi assim que pensou usar-me? Naturalmente agora percebo por que me manteve em casa e me tratou como um príncipe, mas eu quis acreditar que o senhor teria planos para mim — que eu poderia ser de alguma utilidade. Belasius disse-me que o senhor usava cada homem de acordo com sua capacidade, e mesmo que eu não servisse para soldado ainda assim o senhor me usaria de alguma forma. É verdade?
— Bastante verdadeiro. Percebi imediatamente, mesmo antes de pensar que você poderia ser meu filho, quando vi como você enfrentou Uther no campo, o olhar ainda toldado pelas visões e o poder a envolvê-lo como uma pele brilhante. Não, Merlin, você nunca será rei, nem mesmo príncipe na concepção do mundo, mas, quandocrescer, creio que será um homem cuja presença permitirá ao rei governar o mundo. Agora começa a compreender por que o enviei a Belasius?
— Ele é um homem muito culto — comentei, cauteloso.
— É um homem corrupto e perigoso — disse Ambrosius, sem j rodeios — mas um homem maneiroso e inteligente, que viajou muito j e tem habilidades que você provavelmente não teve ocasião de adquirir em Gales. Aprenda com ele. Não digo que o siga, porque há lugares aonde não deve acompanhá-lo, mas aprenda tudo o que puder.
Ergui os olhos assentindo.
— O senhor sabe tudo a respeito dele. — Era uma conclusão, e não uma pergunta.
— Sei que é sacerdote da velha religião. Sim.
— E não se importa com isso?
— Ainda não posso atirar de lado ferramentas valiosas porque não me agrade seu feitio — disse ele. E ele é útil, portanto eu o uso. Você fará o mesmo, se for sensato.
— Ele quer-me levar à próxima reunião.
Ele ergueu as sobrancelhas, mas não fez comentários.
— Vai proibir-me? — perguntei.
— Não. Você irá?
— Sim. — Respondi lentamente e muito sério, procurando as palavras. — My lord, quando se busca o... que eu busco, tem-se que procurar em lugares estranhos. Os homens nunca podem encarar o sol, a não ser olhando para baixo, para o seu reflexo nas coisas da terra. Se estiver refletido numa poça suja, ainda será o sol. Não há lugar aonde eu não vá procurá-lo, até encontrar.
Ele sorria.
— Você vê? Não precisa de proteção alguma, exceto a que Cadal pode dar-lhe. — Encostou-me à beira da mesa, meio sentado, já descontraído e à vontade. — Emrys, foi como ela o chamou. Filho da Luz. Dos imortais. Divino. Você sabia que era esse o significado?
— Sim.
— Sabia que era o mesmo que o meu?
— Meu nome? — perguntei tolamente. Ele assentiu.
— Emrys... Ambrosius... é a mesma palavra. Merlinus Ambrosius... ela o chamou em minha homenagem.
Arregalei os olhos.
— Eu... é claro. Nunca me ocorreu. — Ri-me.
— Por que está rindo?
— Por causa do nosso nome. Ambrosius, príncipe da luz... Ela dizia a todo o mundo que meu pai era o príncipe das trevas. Até ouvi uma canção sobre isso. Tudo é motivo para canções em Gales.
— Algum dia você a cantará para mim. — Então tornou-se sério de repente. A voz profunda. — Merlinus Ambrosius, filho da luz, olhe para o fogo agora e diga-me o que vê. — Então, como o encarasse assustado, continuou ansioso: — Agora, esta noite, antes que o fogo apague, enquanto está cansado e há sono no seu rosto. Olhe para o braseiro e fale comigo. O que acontecerá com a Bretanha? O que acontecerá a mim e a Uther? Olhe agora, trabalhe para mim, meu filho, diga-me.
Não adiantou. Eu estava bem desperto e as chamas morriam no braseiro; o dom desaparecera, deixando apenas um aposento onde as sombras esfriavam rapidamente e um homem e um menino conversavam. Mas, porque eu o amava, voltei os olhos para as brasas. Havia um silêncio absoluto, fora do sibilar das cinzas ao assentarem e o estálido do metal a esfriar.
Falei.
— Nada vejo a não ser o fogo morrendo no braseiro e uma cratera de carvão em brasas.
— Continue olhando.
Eu sentia o suor brotar-me no corpo, as gotas pingarem pelas asas do nariz, sob os braços, nas virilhas, fazendo as coxas grudarem uma na outra. Minhas mãos comprimiam-se uma contra a outra entre os joelhos até que os ossos começaram a doer. Minhas têmporas doíam. Sacudi a cabeça com força para clareá-la e olhei para cima.
— My lord, não adianta. Sinto muito, mas não adianta. Eu não comando o deus, ele me comanda. Algum dia pode ser que eu veja à minha vontade, ou à sua vontade, mas agora isto vem-me espontaneamente ou não vem. — Estendi as mãos tentando explicar. — É como esperar a sombra de uma nuvem, então o vento a sopra de súbito e ela se divide, deixando passar a luz que me ilumina às vezes em cheio, às vezes mal passando de um filete de sol. Um dia estarei livre de todo o templo. Mas, por ora, não. Não consigo ver nada. — A exaustão me arrastava. Sentia-a na própria voz. — Sinto muito, my lord. Não tenho utilidade para o senhor. Ainda não tem o seu profeta.
— Não — disse Ambrosius. Estendeu-me a mão ao ver que eu me erguia e, puxando-me para si, beijou-me. — Apenas um filho que não ceou e está cansado. Vá para a cama, Merlin, e durma o resto da noite sem sonhar. Há tempo bastante para visões. Boa noite.
Não tive mais visões aquela noite, mas sonhei. Nunca contei a Ambrosius. Vi outra vez a gruta na encosta da colina, a jovem Niniane surgindo em meio à névoa e um homem à espera dela, junto à gruta. Mas o rosto de Niniane não era o de minha mãe e o homem da gruta não era o jovem Ambrosius. Era um velho, e seu rosto era o meu.
LIVRO III - O LOBO
Passei cinco anos com Ambrosius na Bretanha. Recordando agora, vejo que muito do que aconteceu sofreu transformações e minha memória, como um mosaico partido que anos mais tarde tivesse sido remendado por um homem quase esquecido da primeira composição. Algumas coisas ocorrem-me nítidas, com todas as cores e detalhes; outras, talvez mais importantes, surgem-me nubladas, como se a imagem tivesse sido coberta pela poeira do que aconteceu desde então - mortes, tristezas, mudanças do coração. Dos lugares sempre me lembro bem, alguns tão claros, que sinto como se pudesse caminhar por eles, e que, se ainda tivesse forças para concentrar-me, e o dom que um dia me assentou como uma luva, poderia agora reconstruí-los no escuro, como reconstruí a Dança dos Gigantes para Ambrosius, muitos anos depois.
Os lugares são nítidos e as idéias que me ocorriam, tão novas e brilhantes como então, mas nem sempre as pessoas; às vezes, quando perscruto minha memória, pergunto-me se aqui e ali não as terei confundido, Belasius com Galapas, Cadal com Cerdic, o oficial bretão de cujo nome não me recordo com o capitão de meu avô em Maridunum, que certa vez tentou transformar-me na espécie de espadachim que, na sua opinião, mesmo um príncipe bastardo gostaria de ser.
Mas, quando escrevo sobre Ambrosius, é como se ele estivesse aqui comigo, recortado contra a escuridão, como o homem do barrete que brilhava naquela primeira noite na Bretanha encantada pela geada. Mesmo sem minhas vestes mágicas, posso conjurar nas trevas os seus olhos, firmes sob o cenho franzido, as linhas pesadas do seu corpo, o rosto (que me parece tão jovem agora) transmitindo a firmeza da vontade avassaladora e estimulante que mantivera seus olhos voltados para o ocidente, para o seu reino proibido, durante os vinte e tantos anos que lhe levaram para transformar-se de uma inça em um Comes, e construir, contra todas as probabilidades de pobreza e fraqueza, a força poderosa que cresceu com ele, à espera da ocasião propícia.
É mais difícil escrever sobre Uther. Ou antes, é difícil escrever sobre Uther como se ele estivesse no passado, fazendo parte de uma história que terminou há muitos anos. Ainda mais vivamente que Ambrosius, ele está aqui comigo; não aqui na escuridão, mas faz parte do eu que foi Myrddin e se encontra hoje nas sombras. A parte que foi Uther está lá fora na claridade, guardando intactas as costas da Bretanha, seguindo o traçado que fiz para ele, o desenho que Galapas me mostrou naquele dia de verão em Gales.
Mas, já não existe, naturalmente, o Uther sobre quem escrevo. O homem que foi a soma de todos nós, que foi todos nós — Ambrosius que me gerou; Uther que trabalhou comigo; eu próprio que o usei como usei todos os homens que me chegaram ao alcance das mãos, a fim de criar Arthur para a Bretanha.
De tempos em tempos chegavam notícias da Bretanha e ocasionalmente, através de Gorlois de Cornwall, notícias da minha terra.
Parece que, depois da morte do meu avô, Camlach não rompera de pronto a velha aliança com seu parente Vortigern. Precisava sentir-se mais seguro antes de ousar separar-se e apoiar "o partido dos jovens" como era chamada a facção de Vortimer. Na realidade, o próprio Vortimer hesitara à beira da rebelião declarada, mas parecia evidente que esta viria inevitavelmente. O rei Vortigern encontrava-se outra vez entre a cruz e a caldeirinha; se quisesse permanecer rei dos bretões, precisava pedir auxílio aos compatriotas de sua mulher saxônica, e os mercenários saxões de ano para ano aumentavam suas exigências até que o país se viu dividido e ensangüentado sob o que os homens chamavam abertamente de Terror Saxônico, e especialmente no oeste, onde os homens eram livres, a rebelião esperava apenas o líder dos líderes. E a situação de Vortigern tornava-se tão desesperadora que foi forçado a confiar, a contragosto, as forças armadas do oeste, cada vez mais, a Vortimer e seus irmãos, que ao menos não traziam no sangue a nódoa saxônica.
De minha mãe não havia notícias a não ser que estava sã e salva no convento de São Pedro. Ambrosius não lhe enviou nenhuma mensagem. Se chegasse aos seus ouvidos que um certo Merlinus Ambrosius se achava com o Conde da Bretanha, ela saberia o que pensar, mas uma carta ou mensagem direta do inimigo do Rei a exporia desnecessariamente. Muito em breve ela saberia, disse Ambrosius.
Na verdade, faltavam cinco anos para que chegasse a oportunidade, mas o tempo avançava rápido como a maré. Com a possibilidade de uma brecha em Gales e Cornwall, os preparativos de Ambrosius aceleraram-se. Se os homens do oeste queriam um líder, era sua intenção que este fosse não Vortimer, mas ele próprio. Aguardaria, deixando que Vortimer servisse de cunha, mas ele e Uther seriam o martelo que entraria em seguida na brecha. Entrementes, a esperança crescia na Bretanha Menor; choviam ofertas de tropas e alianças, e os campos estremeciam sob o tropel de cavalos e homens marchando; as ruas dos engenheiros e armeiros retiniam em meio à noite, ao redobrarem os esforços para produzir duas armas no mesmo tempo em que antes fabricavam uma. Agora, finalmente, aproximava-se a oportunidade e, quando chegasse, Ambrosius precisava estar preparado, sem possibilidade de fracasso. Não se espera metade de uma vida juntando material para fazer uma lança e para afinal deixá-la perder-se ao acaso no escuro. Não apenas os homens e os materiais, mas o tempo e o ânimo e o próprio vento no céu precisavam estar propícios e os próprios deuses precisavam abrir-lhe os portões. E para isso, dizia ele, eu tinha sido enviado. Fora a minha vinda exatamente àquela altura com palavras de vitória e envolto na visão do deus não-conquistado que o persuadira (e, ainda mais importante, aos soldados) de que finalmente se aproximava a ocasião em que poderia atacar na certeza de uma vitória. Assim, descobri, para meu receio, como ele me encarava.
Estejam certos de que nunca mais lhe perguntei como pretendia usar-me. Ele deixara bem claro, e dividido entre o orgulho, o medo e a nostalgia, lutei para aprender tudo o que podia e para preparar-me para receber o poder, pois era só o que eu tinha para oferecer-lhe. Se queria um profeta completo, deve ter ficado desapontado; nada vi de importante naquele período. O conhecimento, suponho eu, bloqueava os portões da visão. Mas então era tempo de conhecimento; estudei com Belasius até ultrapassá-lo, aprendendo, como ele jamais fizera, a aplicar os cálculos que para ele tinham tanto de arte quanto as canções para mim; e, na realidade, mesmo as canções eu iria usar. Passava muitas horas na rua dos engenheiros e precisava ser arrastado com freqüência por um Cadal resmungão para longe de alguma peça oleosa de trabalho prático que me deitava inutilizado, segundo dizia, para qualquer companhia exceto a e um escravo de banhos. Anotei também tudo de que podia lembrar-me dos ensinamentos médicos de Galapas e acrescentei-lhes Experiência prática, ajudando os médicos do exército sempre que 'ia. Eu gozava de liberdade no campo e na cidade, e sob a proteção de Ambrosius entreguei-me a essa liberdade como um lobinho faminto à primeira refeição completa. Aprendia o tempo todo com cada homem e cada mulher que encontrava. Olhava, conforme prometera, para a luz e para as trevas, para o sol e para a poça suja. Acompanhei Ambrosius ao santuário de Mithras na fazenda e Belasius às reuniões da floresta. Foi-me até mesmo permitido assistir em silêncio às reuniões do Conde com seus capitães, embora ninguém pensasse que eu pudesse ter alguma utilidade em campo "a não ser" — como disse Uther certa vez entre divertido e malicioso — "que se erga sobre as nossas cabeças como Josué, fazendo parar o Sol para dar-nos mais tempo para completar o serviço. Embora, brincadeiras à parte, ele pudesse fazer pior... os homens parecem imaginá-lo como algo entre um mensageiro de Mithras e uma lasca da Cruz Verdadeira — com todo o respeito pela sua presença, irmão — estou seguro de que ele será mais útil postado no alto de uma montanha como um amuleto de sorte, onde o possamos ver, do que embaixo, no campo de batalha, onde não duraria cinco minutos". E teve ainda mais o que dizer quando, aos dezesseis anos, desisti da prática diária de espada, que proporcionava a um homem o treino mínimo para a própria defesa; mas meu pai apenas riu e não fez comentários. Acho que ele sabia, embora eu ainda não o soubesse, que eu tinha um tipo muito pessoal de proteção.
Assim aprendi com todos; as mulheres velhas que colhiam plantas, teias e algas para tratamentos; os mascates e curandeiros; os médicos de cavalos, os adivinhos, os padres. Eu escutava as conversas dos soldados, fora das tavernas e a conversa dos oficiais na casa do meu pai, e ainda a conversa dos meninos nas ruas. Mas houve uma coisa sobre a qual nada aprendi: na altura em que deixei a Bretanha, estava com dezessete anos e continuava ignorante a respeito das mulheres. Quando pensava nelas, o que era bastante freqüente, dizia a mim mesmo que não dispunha de tempo, e que tinha uma vida inteira à minha frente para tais coisas e que agora precisava trabalhar no que era mais importante. Mas creio que a verdade clara e simples é que eu tinha receio delas. Assim dissipava meus desejos no trabalho, e, na realidade, creio agora que o medo me vinha do deus.
Portanto, esperava e tratava da minha vida que, como eu a encarava então, era preparar-me para servir meu pai.
Certa vez encontrava-me na oficina de Tremorinus. O engenheiro-mestre era um homem agradável, que me deixava aprender com ele tudo que era possível, oferecendo-me espaço nas oficinas e material para experimentação. Naquele dia em particular, lembro-me de como entrou na oficina e, vendo-me ocupado com um modelo na minha bancada a um canto, veio dar uma olhada. Quando viu 0 que eu fazia, riu-se.
— Eu acharia que já há bastantes dessas por aqui, sem que fosse preciso erguer outras.
— Estou interessado, em como teriam sido erigidas. — Inclinei o modelo da pedra aprumada em escala, fazendo-a erguer-se de volta.
Ele pareceu surpreso. Eu sabia por quê. Toda a sua vida vivera na Bretanha Menor e a paisagem ali está tão ligada às pedras que os homens não mais reparavam nelas. Caminha-se diariamente por uma floresta de pedras e para a maioria parecem mortas... Mas não para mim. Diziam alguma coisa e eu precisava descobrir o que era, mas não falei nisso com Tremorinus. Acrescentei apenas:
— Estava tentando resolver em escala.
— Posso-lhe dizer uma coisa de pronto: já foi tentado e não funciona. — Ele olhava para a roldana que eu improvisara para erguer o modelo. — Isto poderia servir para as aprumadas, apenas para as menores, mas não vai adiantar nada para as deitadas.
— É. Já descobri isso. Mas tenho uma idéia... Ia atacar o problema de outra maneira.
— Está perdendo seu tempo. Vamos vê-lo tratar de alguma coisa prática, alguma coisa de que precisamos e que possamos usar. Ora, essa idéia sua de um guindaste leve e móvel poderia valer a pena desenvolver...
Alguns minutos mais tarde, ele foi chamado. Desmontei o modelo e sentei-me com os meus cálculos. Não falara deles a Tremorinus. Ele tinha coisas mais importantes com que se ocupar e de qualquer modo iria rir-se, se eu lhe contasse que aprendera com um poeta a erguer as pedras aprumadas.
Foi assim.
Um dia, cerca de uma semana antes, quando eu caminhava pela água que protegia as muralhas da cidade, ouvi um homem cantando. A voz era velha, trêmula e rouca por excesso de uso - a voz de um cantor profissional que forçara acima do barulho das aglomerações de gente, e cantara com a gripe de inverno na garganta. O que prendeu minha atenção não foi a voz nem a música, que mal podiam ser distinguidas, mas o som do meu próprio nome.
Merlin, Merlin, para onde vais.
Achava-se sentado junto à ponte com um prato de esmolas. Vi que era cego, mas os restos da sua voz, comoventes, e não apanhou o prato ao ouvir-me parar junto a si, mas continuou sentado como uma pessoa se sentaria a uma harpa, a cabeça inclinada, ouvindo o que dizem as cordas, os dedos a tangê-las como se sentissem as notas. Ele costumava cantar, diria eu, em salões reais.
Merlin, Merlin, para onde vais
Tão cedo com teu cão preto?
Ando à procura do ovo,
Do ovo vermelho da serpente do mar,
Que jaz na praia no oco da pedra.
Vou colher agrião na campina,
Agrião verde e relva dourada,
O musgo dourado que leva ao sono,
E visgo de druida, no ramo do carvalho,
Bem ao fundo, no bosque, onde um riacho murmura.
Merlin, Merlin, volte do bosque e da fonte!
Deixe o carvalho e a relva dourada,
Deixe o agrião no campo alagado,
E o ovo vermelho da serpente do mar
Na bruma da pedra oca!
Merlin, Merlin, pare de buscar!
Só a Deus cabe adivinhar!
Hoje em dia esta canção é tão conhecida como a de "Mary, the Maiden" e "The King and the Grey Seal", mas era a primeira vez que eu a ouvia. Quando ele soube quem parará para escutá-lo, pareceu satisfeito que eu sentasse no barranco ao seu lado e lhe fizesse perguntas. Lembro-me de que na primeira manhã falamos principalmente sobre a canção, e sobre ele próprio. Descobri que ele estivera como rapaz em Mona, a ilha dos Druidas, conhecia Caer'n-ar-Von e caminhara pelo Snowdon. Na ilha dos Druidas perdera a visão; nunca me disse como, mas quando lhe informei que as algas e agriões que colhia na praia se destinavam apenas ao preparo dos remédios e não à mágica, ele sorriu e cantou-me um verso que eu ouvira minha mãe cantar, e que, segundo ele, me protegeria. Contra o quê, não disse, nem lhe perguntei. Deixei algum dinheiro no prato, que ele aceitou com dignidade, mas quando prometi arranjar-lhe uma harpa ficou silencioso encarando-me com as órbitas vazias, e percebi que não acreditara. Trouxe-lhe a harpa no dia seguinte; meu pai era generoso, e nem precisei contar-lhe para' que queria o dinheiro. Quando coloquei a harpa nas mãos do velho cantador, ele chorou, então tomou-me as mãos e beijou-as.
Depois disso, até a época em que deixei a Bretanha Menor, procurei-o com freqüência. Ele viajara extensamente por terras tão distanciadas quanto a Irlanda e a África. Ensinou-me canções de todos os países, da Itália, da Gália e do Norte branco, e as canções mais antigas do Oriente — músicas vagas e erradias, vindas das ilhas do Oriente com o povo que erigira as pedras aprumadas e que falavam de tradições há muito esquecidas exceto sob a forma de canções. Creio que ele próprio não as considerava senão como canções antigas de magia, lendas de poetas. Mas, quanto mais eu pensava nelas, mais claramente me falavam de homens que tinham realmente existido, e de trabalhos que tinham realmente executado, quando ergueram as grandes pedras para marcar o sol e a lua e homenagear seus deuses e os reis gigantes de outrora.
Disse eu, certa vez, alguma coisa sobre isso a Tremorinus, que era bondoso e inteligente e em geral arranjava maneiras de encontrar tempo para mim. Mas ele riu-se, sem me dar atenção, e não falei mais nisso. Os técnicos de Ambrosius tinham mais do que o suficiente em que pensar naqueles dias, para ainda ajudarem um menino a resolver uma série de cálculos sem utilidade prática para a invasão iminente.
Foi na primavera dos meus dezoito anos que finalmente chegaram notícias da Bretanha. Durante janeiro e fevereiro, o inverno fechara os caminhos do mar, e somente em princípios de março foi que, aproveitando-se do tempo ainda frio antes que começassem os ventos fortes, um pequeno navio mercante aportou, e Ambrosius recebeu notícias.
Notícias literalmente estimulantes, pois horas após sua chegada os mensageiros do Conde rumaram para o norte e para o oeste a fim de reunir os aliados com rapidez, porquanto as notícias já vinham com atraso.
Parecia que, algum tempo antes, Vortimer afinal brigara com o pai e sua rainha saxônica. Cansado de pedir ao Suserano que rompesse com seus aliados saxões e protegesse o próprio povo, vários líderes bretões, e entre eles os do Oeste, persuadiram Vortimer a tomar o problema em suas mãos e haviam-se sublevado. Declararam-no rei e agruparam-se em torno de sua bandeira contra os saxões, que conseguiram fazer recuar de volta ao sul e para leste, refugiando-se nos seus navios compridos na ilha de Thanet. Mesmo ali Vortimer os perseguiu e nos últimos dias do outono e princípios do inverno sitiou-os até que suplicassem que lhes fosse permitido partir em paz: juntaram então seus pertences e regressaram à Germânia, deixando para trás mulheres e filhos.
Mas o reinado vitorioso de Vortimer não durou muito. Não ficou muito claro exatamente o que ocorrera, mas o boato é que morrera envenenado traiçoeiramente por um parente da Rainha. Qualquer que fosse a verdade, morrera, e Vortigern, seu pai, estava novamente no comando. Seu primeiro ato quase que foi (e mais uma vez a culpa fora imputada à mulher) mandar chamar novamente Hengist e seus saxões. — Tragam uma pequena força — dissera ele — apenas uma força móvel para manter a paz, impor a ordem e reunificar o reino dividido. — De fato, os saxões prometeram-lhe trezentos mil homens. Assim diziam os boatos e, embora se supusesse que fossem falsos, não havia dúvida de que Hengist planejava voltar com uma força considerável.
Havia também fragmentos de notícias de Maridunum. O mensageiro não era espião de Ambrosius: as notícias que recebíamos eram apenas os boatos mais evidentes. E eram bastante ruins. Parecia que meu tio Camlach juntamente com seus vassalos — gente do meu avô, homens que eu conhecera — haviam-se sublevado com Vortimer e combatido ao seu lado nas quatro batalhas travadas contra os saxões. Na segunda, em Episford, Camlach morrera juntamente com o irmão de Vortimer, Katigern. O que mais me preocupava era que, após a morte de Vortimer, tinha havido represálias contra os homens que com ele combateram. Vortigern anexara o reino de Camlach às suas terras de Guent e, desejando reféns, repetira a mesma ação de vinte e cinco anos atrás: tomara os filhos de Camlach, um deles ainda bebê, e deixara-os aos cuidados da rainha Rowena. Não tínhamos meios de saber se ainda estariam vivos. Nem tampouco se o filho de Olwen, que recebera o mesmo destino, sobrevivera. Parecia pouco provável. De minha mãe não havia notícias.
Dois dias após a chegada do navio, os ventos de primavera começaram a soprar e mais uma vez os mares ficaram bloqueados para nós e para as notícias. Mas isto pouco importava; na verdade, atuava nos dois sentidos. Se não podíamos receber notícias da Bretanha, tampouco eles as receberiam de nós e dos preparativos finais acelerados para a invasão da Bretanha Ocidental, pois era certo que a hora chegara. Não era apenas um caso de marchar em auxílio de Gales e Cornwall; mas, se alimentávamos a esperança de encontrar algum homem para aliar-se ao Dragão Vermelho, o Dragão Vermelho teria de lutar pela coroa no próximo ano.
— Você vai voltar no primeiro barco — disse-me Ambrosius, mas sem tirar os olhos do mapa que abrira na mesa à sua frente.
Eu estava de pé junto à janela. Mesmo com as venezianas fechadas e as cortinas corridas, podia-se ouvir o vento, e ao meu lado as cortinas se agitavam com a corrente. Respondi:
— Sim, senhor, — e acerquei-me da mesa. Então vi para onde apontava o dedo no mapa. — Devo ir a Maridunum?
Ele acenou, concordando.
— Deverá tomar o primeiro barco para o Ocidente e rumar para casa do ponto onde aportar. Deve procurar Galapas imediatamente e ouvir as notícias que tenha. Duvido de que seja reconhecido na cidade, mas não se arrisque. Galapas é seguro. Pode fazer da gruta a sua base.
_ Não recebemos palavra de Cornwall, então? _ Nada senão rumores de que Gorlois estava com Vortigern. _ Com Vortigern? — Digeri isso por alguns instantes. — Então não se sublevou com Vortimer?
— De acordo com as informações que tenho, não.
— Está-se equilibrando então?
— Talvez. Acho difícil de acreditar. Pode não ter significação alguma. Soube que se casou com uma moça nova e talvez se tenha apenas deixado ficar em casa todo o inverno para aquecê-la. Ou, prevendo o que iria acontecer a Vortimer, preferiu servir à minha causa pondo-se a salvo e aparentemente leal ao Suserano. Mas até que ponto não sei, e não posso mandar você diretamente a ele. Ele pode estar sendo vigiado. Portanto, você deverá dirigir-se a Galapas para receber as notícias de Gales. Dizem-me que Vortigern está escondido em algum lugar, enquanto toda a extensão da Bretanha Oriental se encontra aberta a Hengist. Terei de desentocar o velho lobo com fumaça e então reunir o Oeste contra os saxões. Mas é preciso ser rápido. E quero Caerleon. — Ergueu os olhos então. — Estou enviando um velho amigo com você: Marric. Pode mandar recado por ele. Esperemos que você encontre tudo bem. Você próprio quererá notícias, imagino.
— Isto pode esperar — respondi.
Ele não fez comentários, mas ergueu as sobrancelhas para mim e então voltou-se para o mapa.
— Bem, sente-se e eu próprio lhe darei as instruções. Esperemos que possa voltar rápido.
Apontei para as cortinas que balançavam.
— Vou-me sentir mal a viagem toda. Ele levantou os olhos do mapa e riu.
— Por Mithras, não pensei nisso. Acha que eu também? Uma maneira bem pouco digna de voltar para casa.
— Para o próprio reino — acrescentei eu.
Atravessei o mar em princípios de abril e no mesmo navio em que viera. Mas a travessia não poderia ter sido mais diferente. Este não era Myrddin, o fugitivo, mas Merlinus, o jovem romano bem vestido, com dinheiro no bolso e criados para servi-lo. Onde Myrddin fora trancado nu no porão, Merlinus possuía uma cabina confortável e o capitão tratava-o com acentuada deferência. Cadal, naturalmente, era um dos criados e o outro, para meu divertimento, mas não para o dele, era Marric (Hanno morrera, ao se exceder, segundo entendi, numa pequena questão de chantagem). Naturalmente eu não trazia nenhum sinal aparente do meu parentesco com Ambrosius, mas nada me faria apartar-me do broche que ele me dera. Usava-o preso na parte interna do ombro da minha túnica. Era duvidoso que alguém reconhecesse em mim o fugitivo de cinco anos atrás e certamente o capitão não deu mostras disso, mas eu me mantinha indiferente e tomava o cuidado de não falar outra coisa além do bretão.
Quis a sorte que o barco rumasse direto para a embocadura do Tywy e ancorasse em Maridunum, mas ficara combinado que Cadal e eu seguiríamos de bote assim que o navio mercante chegasse ao estuário.
Era de fato a minha viagem anterior ao inverso, mas sob o aspecto mais importante não havia diferença. Senti-me mal a viagem toda. O fato de que desta vez tivesse uma cama confortável e Cadal para cuidar de mim, em vez de sacos e um balde no porão, não fez a menor diferença para mim. Assim que o navio saiu do Mar Pequeno e encontrou na baía o tempo ventoso de abril, deixei o meu posto de bravura na proa e desci para deitar-me.
Tínhamos o que me disseram ser um bom vento e deslizamos para o estuário fundeando pouco antes do amanhecer, dez dias antes dos idos de abril.
Ainda estava escuro, enevoado e frio. Tudo muito quieto. A maré mudava, começando a entrar pelo estuário, e quando nosso barco deixou o costado do navio o único som era o silvo e o marulho da água contra o casco, e o espadanar suave dos remos. Longe, indistinto e metálico, ouvia-se o canto dos galos. Algures, em meio à névoa, ovelhas baliam e eram respondidas pelos balidos profundos dos carneiros. O ar tinha um cheiro suave, limpo e salgado, e de alguma forma estranha um cheiro de lar.
Mantivemo-nos bem no centro da correnteza, e a neblina ocultava-nos das margens. Se chegamos a falar, foi aos cochichos. Uma vez quando um cachorro latiu na margem, ouvimos um homem falar-lhe quase tão claramente como se estivesse no barco conosco. Isso era aviso suficiente e mantivemos as vozes baixas.
Havia uma forte maré de primavera que nos levou depressa. Isto foi bom, porque fundeáramos mais tarde do que devíamos e a luz aumentava. Vi os marinheiros que remavam olharem ansiosos para cima e acelerarem suas remadas. Curvei-me para a frente, apurando a vista para ver o barranco conhecido. Cadal segredou-me ao ouvido:
— Satisfeito em voltar?
— Depende do que encontrarmos. Mithras, como estou faminto!
— Isso não me surpreende — disse com uma risota amarga. — O que está procurando?
— Devia haver uma baía... areia branca com um riacho descendo por entre as árvores... e uma encosta com uma coroa de pinheiros. Desembarcaremos aí.
Ele assentiu. O plano era que Cadal e eu deveríamos desembarcar do lado do estuário oposto a Maridunum, num ponto de onde eu sabia que poderíamos prosseguir, sem sermos vistos, para a estrada do sul. Passaríamos por viajantes de Cornwall. Eu falaria, mas o sotaque de Cadal pareceria a qualquer pessoa o de um nativo de Cornwall. Trazia comigo pontinhos de ungüentos e uma pequena arca de remédios, e ao ser interpelado poderia passar por médico viajante, um disfarce que serviria para levar-me mais ou menos aonde queria ir.
Marric continuava a bordo. Entraria com o navio e desembarcaria no cais como de costume. Tentaria encontrar seus contatos antigos na cidade e recolher as notícias que pudesse. Cadal seguiria comigo para a gruta de Galapas e serviria de ligação com Marric para transmitir-me as informações que o outro obtivesse. O navio ficaria três dias no Tywy, e quando levantasse âncora Marric levaria as notícias de volta. Se eu e Cadal estaríamos com ele, dependeria do que encontrássemos: nem meu pai nem eu esquecêramos de que, depois do papel de Camlach na rebelião, Vortigern deveria ter passado por Maridunum como uma raposa atrás de galinhas, e com ele, talvez, os saxões. Minha primeira tarefa era obter notícias de Vortigern e mandá-las por Marric; a segunda era encontrar minha mãe e ver se estava a salvo.
Era bom estar em terra outra vez — não terra seca, pois a grama no alto da encosta era alta e molhada, mas sentia-me leve e ansioso quando o barco desapareceu na neblina e Cadal e eu deixamos a praia, caminhando para o interior, em direção à estrada. Não sei o que esperava encontrar em Maridunum, nem mesmo sei se me importava. Não era a volta que animava meu espírito, mas o fato de que finalmente tinha um serviço a prestar a Ambrosius. Se ainda não podia desempenhar as funções de profeta, ao menos poderia fazer o trabalho de um homem e de um filho. Creio que todo o tempo eu alimentava uma meia esperança de que me fosse dado morrer por ele. Eu era muito jovem.
Alcançamos a ponte sem incidentes. A sorte estava conosco, porque encontramos um negociante de cavalos que trazia dois potros para vender na cidade. Comprei-lhe um, barganhando apenas o suficiente para evitar suspeitas. Ele ficou tão satisfeito com o preço que jogou na transação uma sela um tanto usada. Na altura em que concluímos o negócio, estava totalmente claro e havia algumas pessoas por ali, mas nenhuma nos lançou mais de um olhar desinteressado, exceto um sujeito que, aparentemente reconhecendo o cavalo, sorriu e perguntou mais a Cadal que a mim:
— Estava pretendendo ir longe, companheiro?
Fingi não ouvir, mas pelo canto do olho vi Cadal estender as mãos, dar de ombros e virar os olhos na minha direção. O olhar dizia muito claramente:
— Eu apenas o acompanho e ele é meio maluco.
Naquela hora o caminho de reboque estava vazio. Cadal acercou-se de mim e enganchou uma mão na correia do pescoço do potro.
— Ele está certo, sabe? Esse velho matungo não nos vai levar longe. A propósito, é longe?
— Provavelmente menos longe do que me lembro. Seis milhas, no máximo.
— Subida a maior parte do caminho, diz você?
— Sempre posso caminhar. — Passei a mão pelo pescoço magro. Ele não é tão ruim quanto parece, sabe? Não há muitas coisas que umas boas rações não endireitem.
— Então, pelo menos não desperdiçou seu dinheiro. O está vendo naquela parede?
— É onde eu morava.
Passávamos pela casa do meu avô. Parecia pouco mudada. Do lombo do potro era possível ver por cima da parede do terraço onde crescia o marmeleiro com suas flores de um vermelho vivo, abrindo-se ao sol da manhã; o jardim onde Camlach me dera o damasco envenenado; e o portão por onde eu passara, a correr, em lágrimas.
O potro prosseguia. Havia o pomar, as macieiras sempre pejadas de botões, a grama crescendo selvagem e verde em torno do pequeno terraço, onde Moravik se sentava a fiar enquanto eu brincava aos seus pés. E ali estava o lugar onde eu pulara a muralha na noite da minha fuga. Ali estava a macieira curvada onde eu deixara Aster amarrado. O muro estava rachado e dava para ver a grama por onde eu fugira, a correr, aquela noite, do meu quarto, onde o corpo de Cerdic jazia na pira funerária. Parei o potro e estiquei o pescoço para ver mais adiante. Deveria ter feito uma limpeza completa aquela noite; os prédios haviam desaparecido, o meu quarto, e com ele duas partes do pátio externo. Os estábulos continuavam na mesma, o fogo não os atingira. Os dois lados da colunata destruídos tinham sido reconstruídos num estilo moderno que parecia não ter relação alguma com o resto. Grandes pedras toscas numa construção rústica, pilastras quadradas sustentando um telhado de madeira e janelas quadradas e fundas. Era feio e parecia desconfortável — a única virtude talvez residisse no fato de ser à prova de mau tempo. Estaria melhor, pensei eu, acomodando-me de volta à sela e pondo o matungo em movimento, morando numa gruta...
— De que está rindo? — perguntou Cadal.
— De como me tornei romano. É engraçado, minha casa já não é aqui. E para ser honesto não creio que seja na Bretanha Menor tampouco.
— Onde então?
— Não sei. Onde esteja o Conde, com certeza. Suponho que será um lugar assim, por algum tempo. — Acenei na direção das muralhas da velha caserna romana por trás do palácio. Estavam em ruínas e o lugar, abandonado. Tanto melhor, pensei. Ao menos, não parecia que Ambrosius precisasse lutar por isso. Dando-se a Uther vinte e quatro horas, o lugar ficaria tão bom como novo. E ali estava São Pedro aparentemente intacto, não mostrando sinal algum de fogo ou de lança. — Sabe de uma coisa? — perguntei a Cadal quando deixamos a sombra da muralha do convento, rumando pela trilha do moinho. — Creio que, se tenho algum lugar a que posso chamar de casa, é a gruta de Galapas.
— Isso não me parece nada romano — disse Cadal. — Dê-me na boa taverna qualquer dia, uma cama decente e carneiro para comer, e pode ficar com todas as grutas que existam.
Mesmo com aquele cavalo horrível o trajeto pareceu-me mais curto do que eu me lembrava. Logo chegamos ao moinho e atravessamos a estrada, subindo o vale. O tempo desapareceu. Parecia que ainda ontem eu subira aquele mesmo vale ao sol, o vento a agitar a crina cinzenta de Aster. Não era só Aster — pois lá, sob o mesmo espinheiro, certamente estaria o mesmo menino retardado vigiando os mesmos carneiros como no meu primeiro passeio. Quando alcançamos a encruzilhada do caminho, vi-me procurando a pomba torcaz. Mas a encosta da montanha estava silenciosa, exceto pelos coelhos que corriam por entre as samambaias novas.
Quer o matungo sentisse que se aproximava o fim da viagem, quer apenas gostasse da grama sob seus cascos e do peso leve às costas, ele pareceu estugar o passo. À minha frente eu já discernia a curva da colina, além da qual encontraria a caverna. Parei junto à moita de espinheiros.
— Chegamos. É lá em cima, no alto do rochedo. — Escorreguei da sela e entreguei as rédeas a Cadal. — Fique aqui e espere por mim. Pode subir dentro de uma hora — acrescentei, pensando melhor: — E não se alarme se vir o que lhe parecerá uma fumaça. São os morcegos saindo da gruta.
Eu quase já me esquecera do sinal de Cadal contra o mau-olhado. Ele o fez agora e, rindo-me, deixei-o.
Mesmo antes de ter galgado o pequeno penhasco que levava ao relvado diante da caverna, eu já sabia.
Chamem a isso premonição; não havia indícios. Silêncio naturalmente, mas geralmente tudo estava silencioso quando eu me aproximava da caverna. Este silêncio era diferente. Somente passados alguns momentos percebi o que era. Já não se ouvia o borbulhar da fonte.
Subi para o topo do caminho, desemboquei no relvado e vi. Não havia necessidade de entrar na caverna para saber que ele não estava lá, e nunca mais estaria.
No relvado plano defronte da estrada da caverna havia um punhado de destroços. Aproximei-me para examiná-los.
Não acontecera há muito tempo. Houvera uma fogueira ali, uma fogueira apagada pela chuva antes que tudo fosse completamente destruído. Havia uma pilha de destroços empapados — madeira semi-carbonizada, trapos, pergaminhos transformados novamente em polpa, as beiradas escurecidas ainda inteiras. Rolei com o pé o pedaço mais próximo de madeira queimada. Pelos entalhes reconheci-a: era a arca que contivera os livros. O pergaminho era só o que restara.
Suponho que houvesse outras coisas entre aqueles restos. Não olhei mais. Se os livros tinham desaparecido, tudo mais desaparecera também. E Galapas com eles.
Encaminhei-me lentamente para a entrada da caverna. Parei junto à fonte. Compreendi por que estava silenciosa: alguém enchera a bacia com pedras e terra e outros destroços retirados da caverna. Através disso tudo a água ainda empoçava, escorrendo vagarosa e em silêncio pela borda da pedra e, ao cair, formava um alagado lamacento no gramado. Pensei ter visto o esqueleto de um morcego desossado pela água.
Estranhamente, o archote ainda se encontrava na saliência do alto da entrada da caverna e estava seco. Não havia sílex nem ferro, mas acendi o fogo e, empunhando a tocha à minha frente, entrei de mansinho.
Creio que minha pele estava arrepiada como se um vento frio soprasse do interior da caverna passando por mim. Já sabia o que iria encontrar.
O lugar fora despojado. E tudo atirado à fogueira. Tudo, exceto o espelho de bronze. Este naturalmente não queimaria, e suponho que era pesado demais para ser destruído. Fora arrancado da parede e achava-se encostado à parede da gruta, inclinado como um bêbedo. Nada mais. Nem um movimento, nem o murmúrio dos morcegos no teto. O lugar ecoava o vazio.
Ergui o archote bem alto e olhei para cima, na direção da gruta de cristal. Não estava lá.
Creio que por instantes, enquanto o archote pulsava, pensei que ele conseguira esconder a gruta interior e se escondera também. Então vi.
A abertura da gruta de cristal ainda estava lá, mas o acaso, ou chamem-no como quiserem, a tornava invisível a não ser para aqueles que a conheciam. O espelho de bronze caíra e, em vez de projetar luz sobre a fresta, projetava trevas. Sua luz irradiava-se, concentrando-se numa saliência da rocha, e lançava uma nesga de sombra exatamente sobre a entrada da gruta de cristal. Para alguém ocupado apenas em pilhar e destruir a gruta embaixo, sua entrada mal seria visível.
— Galapas? — chamei, experimentando o vazio. — Galapas?
Ouvi o mais fraco dos murmúrios da gruta de cristal, um zumbido doce e fantasmagórico como a música que certa vez eu procurara escutar à noite. Nada de humano — eu não esperava que fosse. Mas, ainda assim, subi para o degrau e ajoelhei-me para espreitar...
A luz da tocha incidiu nos cristais e projetou a sombra da minha harpa trêmula por todo o globo iluminado. A harpa permanecia intacta no centro da gruta. Nada mais, exceto o sussurro morrendo pelas paredes curvas e faiscantes. Deveria haver visões ali, nos relampejos da luz, mas eu sabia que não estaria preparado. Descansei a mão na rocha e saltei com o archote a escorrer, de volta ao chão da caverna. Ao passar pelo espelho inclinado, vi num relance um jovem alto correndo num redemoinho de chamas e fumaça. Seu rosto parecia pálido, os olhos escuros e imensos. Corri para fora. Deixei para trás o archote que ardia e escorria. Precipitei-me para beira do penhasco e levei as mãos em concha à boca para chamar Cadal, mas um ruído às minhas costas fez-me voltar rapidamente e olhar para o alto.
Era um som muito normal. Dois corvos e um abutre levantaram vôo da colina e gritavam para mim.
Vagarosamente, desta vez, subi a trilha que passava pela fonte e levava ao alto da gruta. Os corvos subiram mais, crocitando. Mais dois abutres se ergueram, passando bem por cima das samambaias. Havia mais dois ocupados com alguma coisa que jazia entre as ameixeiras em flor.
Girei a tocha e atirei-a para espantá-los. Então corri naquela direção.
Não se podia saber há quanto tempo morrera. Os ossos estavam quase limpos. Mas reconheci-o pelos trapos escuros descoloridos que sacudiam sob o esqueleto e a sandália partida que fora jogada próximo entre as margaridas de abril. Um das mãos separara-se do pulso e os ossos quebradiços e limpos jaziam aos meus pés. Podia-se ver onde o dedo mínimo quebrara e emendara torto. Entre as costelas nuas a relva de abril começava a crescer. O vento soprava, puro e luminoso, cheirando a tojos floridos.
O archote se apagara na relva úmida. Parei e recolhi-o. Eu não deveria tê-lo atirado neles, pensei. Os pássaros tinham-lhe proporcionado uma despedida condigna.
Passos atrás de mim fizeram-me voltar, mas era apenas Cadal.
— Vi os pássaros voando — disse ele. Olhava para a coisa sob a moita de ameixeiras. — Galapas?
Inclinei a cabeça, assentindo.
— Vi a confusão lá embaixo na gruta. Imaginei.
— Eu não tinha idéia de que fazia tanto tempo que estava aqui.
— Deixe isso comigo. — Ele já se curvava. — Eu o enterrarei. Vá e espere embaixo, onde deixamos o cavalo. Talvez eu possa encontrar uma ferramenta por aí, ou mesmo voltar...
— Não. Deixe-o ficar em paz sob as ameixeiras. Construiremos um monte sobre ele para sepultá-lo. Faremos isso juntos, Cadal.
Havia pedras a granel para empilhar, formando um túmulo, e cortamos leivas com as nossas adagas para gramá-lo. Até o fim do ao as samambaias, madressilvas e a relva nova o teriam coberto e amortalhado. Assim, deixamo-lo.
Quando descemos, novamente passando pela entrada da gruta, pensei na última vez que viera por ali. Eu chorava, lembrei-me, pela morte de Cerdic, pela perda de minha mãe e de Galapas, pois quem poderia prever o futuro? Você voltará a ver-me, dissera-me ele, prometo-lhe. Bem, eu o vira. E algum dia, sem dúvida, sua outra promessa de certa forma se tornaria realidade.
Estremeci, e percebendo o olhar rápido de Cadal, falei secamente.
— Espero que tenha tido o bom senso de trazer um cantil.
Preciso de um gole.
Cadal trouxera mais de um cantil consigo, e ainda comida — carneiro salgado, pão e azeitonas da última colheita, conservadas num frasco, no próprio azeite. Sentamo-nos do lado abrigado do bosque e comemos, o matungo a pastar por perto. Longe, embaixo, as curvas tranqüilas do rio brilhavam pelos campos verdes de abril e pelas colinas cobertas de árvores novas. A névoa clareara e o dia estava lindo.
— Bem, — disse Cadal, passado algum tempo, — que faremos?
— Vamos ver minha mãe. Se ainda estiver lá, naturalmente. — E com uma selvageria que me assaltou tão de repente que eu mal sabia de sua existência, exclamei: — Por Mithras, eu daria tudo para saber quem fez aquilo lá em cima!
— Ora, quem poderia ser senão Vortigern?
— Vortimer, Pascentius, qualquer um. Quando um homem é sábio, humilde e bom, — acrescentei com amargura, — parece que todas as mãos, as mãos de cada homem, se levantam contra ele. Galapas poderia ter sido assassinado por um fora-da-lei em busca de comida, ou um pastor à procura de abrigo, ou um soldado de passagem que quisesse água.
— Aquilo não foi assassinato.
— O que foi, então?
— Quis dizer que foi feito por mais de um. Os homens em hordas são piores do que a sós. Tenho um palpite de que devem ter sido os homens de Vortigern, vindos da cidade.
— Provavelmente você tem razão. Vou descobrir.
— Acha que chegará a ver sua mãe?
— Posso tentar.
— Ele... você tem algum recado para ela? — Suponho que isto era a medida das minhas relações com Cadal, e o que o encorajava-o a fazer tal pergunta.
Respondi-lhe muito simplesmente.
— Você quer saber se Ambrosius mandou dizer-lhe alguma coisa? Não. Deixou ao meu critério. O que vou dizer dependerá totalmente do que aconteceu desde que parti. Conversarei com ela primeiro e julgarei o quanto poderei contar-lhe depois. Não se esqueça de que não a vejo há muito tempo, e as pessoas mudam. Quero dizer, suas lealdades mudam. Veja o meu caso. A última vez que a vi, era apenas uma criança e só guardei as recordações de uma criança — e pelo que sei posso tê-la compreendido totalmente mal, sua maneira de pensar e as coisas que queria. A lealdade dela pode pertencer a mais alguém — não apenas quanto à Igreja, mas no que se refere aos seus sentimentos sobre Ambrosius. Os deuses sabem que ela não seria culpada por ter mudado. Nada devia a Ambrosius. Certificou-se bem disso.
Ele comentou pensativo, os olhos na grande extensão verde cortada pelo rio:
— O convento não foi tocado.
— Exatamente. O que quer que tenha acontecido à cidade, Vortigern deixou o convento de São Pedro em paz. Portanto, é preciso ver quem está a favor de quem, antes de transmitir recados. O que ela não sabe de todos esses anos, não lhe fará mal continuar ignorando por outro tanto. O que quer que aconteça, com a vinda de Ambrosius tão próxima, não devo arriscar-me a contar-lhe demais.
Ele começou a recolher os restos da refeição e eu continuei sentado, o queixo na mão, pensando, os olhos perdidos na distância colorida.
Acrescentei lentamente: — É bastante simples descobrir onde Vortigern se encontra agora e se Hengist já desembarcou e quantos homens trouxe. Marric provavelmente descobrirá tudo isso sem muito esforço. Mas há outras sondagens que o Conde me encarregou de fazer, coisas que dificilmente saberão no convento, e já que Galapas está morto, terei de tentar em outros lados. Esperemos aqui até o crepúsculo, para então descermos para o convento. Minha mãe poderá dizer-me a quem ainda poderei procurar em segurança. — Olhei para ele. — Qualquer que seja o rei que ela favoreça, é pouco provável que me denuncie.
— Bastante verdadeiro. Bem, esperemos que o deixem vê-la.
— Se ela souber quem está à sua procura, imagino que será necessária mais do que uma palavra da Abadessa para impedi-la de ver-me. Não se esqueça de que é ainda a filha de um rei. — Recostei-me na relva morna, as mãos cruzadas sob a cabeça. — Mesmo que eu ainda não seja filho de um rei...
Mas, filho de rei ou não, não conseguimos penetrar no convento.
Estivera certo ao pensar que nenhum dano fora causado ao convento. As muralhas erguiam-se intactas e sem arranhões e os portões de carvalho com dobradiças e tranca de ferro eram novos e sólidos. Estavam bem fechados. Felizmente, tampouco havia archote algum do lado de fora para dar-nos as boas-vindas. A rua estreita estava vazia e escura ao amanhecer. Ao nosso toque impaciente, uma pequena janela quadrada abriu-se no portão e um olho apareceu pela grade.
— Viajantes de Cornwall — disse, baixinho. — Precisava falar com Lady Niniane.
— Lady quem? — Era uma voz monótona e sem inflexão como a dos surdos. Perguntando-me, irritado, por que colocariam uma porteira surda no portão, ergui um pouco a voz, acercando-me da grade:
— Lady Niniane. Não sei como se chama agora, mas era a irmã do falecido rei. Ainda está aí?
— Está, mas não quer ver ninguém. É uma carta que traz? Ela pode ler.
— Não, preciso falar-lhe pessoalmente. Leve-lhe o recado; diga-lhe que é... uma pessoa da família.
— Família dela? — Pensei ter visto uma faísca de interesse nos olhos. — A maioria está morta ou partiu. As notícias não chegam a Cornwall? O rei, irmão dela, morreu em combate no ano passado e as crianças foram levadas por Vortigern. O próprio filho está morto há cinco anos.
— Eu sei disso. Não sou da família do irmão dela. E sou tão leal ao Suserano quanto ela própria. Diga-lhe isso. E olhe... tome isso para as suas... devoções.
Uma bolsa passou pela grade e foi agarrada prontamente.
— Levarei o seu recado. Dê-me seu nome. Não digo que ela vá vê-lo, compreende, mas levar-lhe-ei seu nome.
— Meu nome é Emrys. Ela me conhecia. Diga-lhe isso. E apresse-se. Esperaremos aqui.
Mal se passaram dez minutos e ouvi os passos voltarem. Por um momento pensei que fossem de minha mãe, mas os mesmos olhos conhecidos espreitaram pela grade, as mesmas mãos crispadas segurando as barras de ferro.
— Ela o receberá. Oh, não, não agora, jovem. Você não pode entrar. Nem ela pode sair enquanto não tenha terminado as orações. Então, irá encontrá-lo no caminho do rio, mandou-me dizer. Há um outro portão daquele lado da muralha. Mas não deixe ninguém vê-lo.
— Muito bem. Terei cuidado.
Eu podia ver o branco dos seus olhos revirando, quando tentou ver-me nas sombras.
— Ela o conheceu na mesma hora, Emrys não é? Bem, não se preocupe, não direi nada. Estes são tempos difíceis, e quanto menos se falar melhor, qualquer que seja o assunto.
— A que horas?
— Uma hora depois do nascer da lua. Ouvirá o sino.
— Estarei lá — disse eu, mas a grade já se fechara.
A neblina subia outra vez do rio. Isso seria útil, pensei. Descemos silenciosamente pela vereda que contornava as muralhas do convento e a seguir se afastava das ruas, descendo em direção ao caminho do reboque.
— E agora? — perguntou Cadal. — Ainda faltam duas horas até o nascer da lua e, pelo jeito da noite, teremos sorte se chegarmos a ver a lua. Você não vai arriscar uma ida a cidade?
— Não. Mas não vale a pena esperar nesta garoa. Vamos descobrir um lugar abrigado de onde possamos ouvir o sino. Por aqui.
O portão da estrebaria estava trancado. Não perdi tempo com ele, mas rumei para a muralha do pomar. Não havia luzes no palácio. Trepamos pelo lugar onde a muralha estava partida e continuamos pela relva do pomar até o jardim do meu avô. O ar estava carregado do cheiro úmido da terra e das plantas, hortelã, rosas amarelas, musgo e folhas novas pesadas de orvalho. A fruta não colhida no ano anterior era esmagada sob os nossos pés. Atrás de nós o portão rangeu, ecoando no vazio.
As colunatas estavam desertas, as portas fechadas, as venezianas trancadas sobre as janelas. O lugar era todo escuridão, ecos, e correria de ratos. Mas não havia danos aparentes. Suponho que, quando Vortigern havia tomado a cidade, tencionara guardar a casa para si e de alguma forma persuadira os saxões a poupá-la do saque e — temendo os bispos — forçara-os a poupar o convento. Tanto melhor para nós. Ao menos, teríamos uma espera confortável e seca. O tempo que eu passara com Tremorinus teria sido desperdiçado se eu não soubesse arrombar todas as fechaduras do lugar.
Estava justamente comentando isso com Cadal quando de repente, pelo canto da casa, caminhando macio como um gato pelas lajotas cobertas de musgo, surgiu um rapaz apressado. Parou imediatamente ao ver-nos e percebi sua mão correr rápida ao quadril. Mas no mesmo instante em que a arma de Cadal sibilou, soltando-se da bainha, em resposta, o rapaz espreitou, arregalou os olhos e exclamou:
— Myrddin, pelo carvalho sagrado!
Por um momento realmente não o reconheci, o que era compreensível, já que ele era muito mais velho que eu e mudara bastante em cinco anos. Então, inequivocamente, percebi quem era: ombros largos, queixo proeminente, o cabelo que mesmo na penumbra era vermelho: Dinias, que fora príncipe e filho do Rei quando eu era um bastardo sem nome. Dinias, meu "primo", que nem mesmo reconhecia tal parentesco, mas que reivindicara o título de príncipe para si mesmo, e tivera permissão para mantê-lo.
Agora mal seria tomado por um príncipe. Mesmo à luz fugidia eu podia ver que estava vestido, não pobremente, mas com roupas próprias de um mercador, e só trazia uma jóia, um bracelete de cobre. O cinto era de couro simples, e o cabo da espada era simples também; a capa, embora de boa fazenda, estava manchada e desfiada nas pontas. Em toda a sua pessoa havia um ar indefinível de desânimo que vem do cálculo inexorável do dia-a-dia ou talvez de refeição a refeição.
Já que, apesar das mudanças consideráveis, era ainda, indiscutivelmente, o meu primo Dinias, era de supor que uma vez que me tivesse reconhecido, não havia vantagem em fingir que se enganara. Sorri e estendi a mão.
— Bem-vindo, Dinias. É o primeiro rosto conhecido que vejo hoje.
— Em nome dos deuses, o que está fazendo aqui? Todos diziam que estava morto, mas não acreditei.
Sua grande cabeça avançou, espiando-me de perto, enquanto os olhos rápidos me mediam de alto a baixo.
— Onde quer que tenha estado, saiu-se bem, ao que parece. Há quanto tempo voltou?
— Chegamos hoje.
— Então soube das notícias?
— Eu já sabia que Camlach estava morto. Sinto muito... se é que você sentiu. Como sabe, ele não era meu amigo, mas isso nada tinha a ver com a política...
Fiz uma pausa aguardando. Deixei-o fazer a jogada. Percebi pelo canto dos olhos que Cadal continuava tenso e vigilante, a ainda no quadril. Fiz um movimento horizontal com a palma mão voltada para baixo e vi-o descontrair-se. Dinias ergueu o ombro.
— Camlach? Foi um tolo. Disse-lhe para que lado o lobo iria pular. — Ao falar, vi seus olhos correrem em direção às sombras Parecia que os homens tomavam cuidado com a língua nos dias que corriam em Maridunum. Seus olhos voltaram para mim, cheios de suspeita, desconfiados. — O que está fazendo aqui, afinal? por que voltou?
— Para ver minha mãe. Tenho estado em Cornwall e só o que ouvimos são boatos de lutas. Quando soube que Camlach estava morto, e Vortimer também, fiquei imaginando o que teria acontecido em casa.
— Bem, ela está viva, já descobriu, não? O Suserano — erguendo a voz — respeita a Igreja. Mas duvido de que você consiga vê-la.
— Provavelmente tem razão. Fui ao convento e não me deixaram entrar. Mas estarei aqui alguns dias. Vou mandar-lhe um recado e, se ela quiser receber-me, creio que dará um jeito. Mas, pelo menos, sei que está a salvo. Foi realmente uma sorte encontrá-lo aqui assim. Poderá dar-me o resto das notícias. Eu não fazia idéia do que iria encontrar aqui, pois, como vê, cheguei esta manhã furtivamente, só com o meu criado.
— Furtivamente é certo. Pensei que fossem ladrões. Tiveram sorte em que eu não os cortasse primeiro e deixasse as perguntas para depois.
Era o velho Dinias, o tom novamente fanfarrão, numa resposta imediata ao meu tom brando de desculpas.
— Bem, eu não queria arriscar-me até saber como estava a família. Rumei para São Pedro, esperei até o anoitecer para isso, e vim dar uma espiada aqui. O lugar está vazio então?
— Eu ainda estou morando aqui. Onde mais?
A arrogância soava vazia como a colunata deserta e por um momento me senti tentado a pedir-lhe acolhida e ver o que diria. Como se o pensamento lhe tivesse ocorrido no mesmo momento, perguntou rápido:
— Cornwall, hem? Quais são as notícias de lá? Dizem que os mensageiros de Ambrosius estão cruzando o Mar Estreito como moscas.
Ri.
— Eu não saberia. Tenho levado uma vida reclusa.
— Escolheu o lugar certo. — O desprezo que eu recordava tão bem estava de volta na sua voz. — Dizem que o velho Gorlois passou I o inverno aconchegado na cama com uma menina que ainda não fez vinte anos, e deixou o resto dos reis entretidos com seus jogos na neve. Dizem que ela faria Helena de Tróia parecer uma feirante. Como é ela?
— Nunca a vi. Ele é um marido ciumento.
— Ciúmes de você? — Ele riu e acrescentou um comentário que fez Cadal ofegar atrás de mim. Mas a piada fizera voltar o bom humor do meu primo e sua descontração. Eu ainda era o priminho bastardo que não contava. Ele acrescentou: — Foi conveniente para você. Teve um inverno tranqüilo, você e o seu duque lho e libidinoso, enquanto o resto corria pelo país atrás dos saxões.
Então ele lutara com Camlach e Vortimer. Era o que eu queria saber. Disse com humildade:
— Não posso ser considerado responsável pela política do duque, então ou agora.
— Hum! Tanto melhor para você. Sabia que ele estava no Norte com Vortigern?
— Sabia que partira para encontrar-se com ele... em Caer'n-ar-Von, não foi? Você vai para lá? — Pus a mais suave das interrogações na voz, acrescentando mansamente: — Eu não estive realmente em condições de saber notícias importantes.
Uma corrente fria de ar carregado de umidade passou entre as colunas. De alguma calha partida acima de nós a água escorreu de repente, caindo entre nós sobre as lajotas. Vi-o aconchegar a capa ao corpo.
— Por que estamos de pé aqui? — Falou com uma animação brusca que soou tão falsa quanto sua arrogância. — Vamos trocar notícias com uma garrafa de vinho, hem?
Hesitei, mas apenas por um momento. Parecia óbvio que Dinias tivesse suas próprias razões para se manter fora das vistas do Suserano. Por um lado, se tivesse conseguido sobreviver à sua ligação com Camlach, estaria certamente com o exército de Vortigern e não esquivando-se nesses andrajos por um palácio vazio. Por outro lado, agora que sabia que eu estava em Maridunum, eu preferia mantê-lo debaixo dos meus olhos a deixá-lo sair falando com quem quisesse.
Assim, aceitei com toda a aparência de prazer, apenas insistindo em que jantasse comigo, se pudesse dizer-me onde arranjar uma boa refeição e um lugar para sentarmos fora do sereno...!
Antes que as palavras tivessem acabado de me sair da boca, ele já me tomava pelo braço e me conduzia apressado pelo átrio em direção à porta da rua.
— Ótimo, ótimo. Há um lugar ali do lado oeste, passando a ponte. A comida é boa e eles têm a espécie de clientela que não se e com a vida dos outros. — Piscou. — Não que você vá querer uma garota, vai? Embora não pareça que o tenham transformado num padre, afinal...? Bem, por ora chega, não é conveniente parecer que se tem muito o que conversar nestes dias... Ou a gente se indispõe com os galeses ou se indispõe com Vortigern... e a cidade está regurgitando de espiões no momento. Não sei quem estão procurando, mas corre uma história... Não, leve daqui essa porcaria.
Disse estas últimas palavras ao mendigo que empurrara urna bandeja de pedras rústicas e renda de couro à nossa frente, o homem recuou sem dizer palavra. Vi que era cego de um olho devido a um talho. Uma cicatriz horrenda corria-lhe pela face e achatava-lhe a ponta do nariz. Parecia um corte produzido por espada.
Deixei cair uma moeda na bandeja quando passamos e Dinias lançou-me um olhar pouco amistoso.
— Os tempos mudaram, hem? Deve ter ficado rico em Cornwall! Diga-me, o que aconteceu aquela noite? Você quis mesmo incendiar todo o maldito palácio?
— Falarei sobre isso durante a ceia — respondi e não quis dizer mais nada até alcançarmos o abrigo da taverna e arranjarmos um banco a um canto com as costas voltadas para a parede.
Eu estivera certo ao julgar a pobreza de Dinias. Mesmo na penumbra fumacenta do salão repleto da taverna pude constatar o estado andrajoso das suas roupas, e perceber o ar entre ressentido e ansioso com que me observava. Eu pedira comida e uma jarra do melhor vinho. Enquanto esperávamos, pedi licença para dar uma palavrinha à parte com Cadal.
— Talvez eu possa obter dele alguns dos fatos que procuro. De qualquer forma achei melhor ficar com ele... prefiro mantê-lo sob as minhas vistas, no momento. A probabilidade é que fique completamente bêbedo até o nascer da lua, tornando-se inofensivo, e nesse caso ou meto-o na cama com uma moça ou, se já passou desse ponto, levo-o para casa a caminho do convento. Se não parecer que eu vá conseguir sair daqui até o nascer da lua, corra para o portão da trilha de reboque e encontre-se com minha mãe. Diga-lhe que estou a caminho, mas topei com meu primo Dinias e preciso livrar-me dele antes. Ela compreenderá. Agora coma alguma coisa.
— Tenha cuidado, Merlin. Seu primo, foi o que disse? Uma flor, sem dúvida alguma. E não gosta de você.
Ri.
— Acha que isso é novidade? É mútuo.
— Oh! Bem, desde que você fique alerta.
— Farei isso.
As maneiras de Dinias continuavam suficientemente boas para fazê-lo esperar até que eu dispensasse Cadal e me sentasse para servir o vinho. Tivera razão quanto à comida. A torta que nos trouxeram estava recheada de carne e ostras num molho grosso e fumegante e o pão, embora fosse feito de cevada, estava fresco. Os outros artigos da taverna pareciam igualar-se à comida. De tempos em tempos podíamos apreciá-los de relance quando uma moça espreitava, sorridente, pela cortina de uma porta e um dos homens pousava o caneco e corria atrás dela. Pela maneira como os olhos de Dinias se demoravam na cortina mesmo enquanto comia, pensei que não teria dificuldade em livrar-me dele sem despertar suspeitas, uma vez que obtivesse as informações desejadas.
Esperei até que estivesse a meio da torta, antes de começar a perguntar. Não gostaria de esperar muito mais, porque pela maneira como ele se atirava ao jarro de vinho, entre cada garfada, apesar da fome, eu receava que, se deixasse para mais tarde, suas idéias já não estariam bastante claras para me dizer o que eu queria saber.
Até que me assegurasse do terreno, eu não estava preparado para aventurar-me em campo arriscado, mas sendo minha família o que era, poderia extrair muitas das informações que Ambrosius desejava apenas indagando pelos parentes. A isso ele atendeu com presteza.
Para começar, eu fora considerado morto desde a noite do incêndio. O corpo de Cerdic fora destruído e todo aquele lado do pátio junto com ele, e quando meu pônei chegou a casa e não havia sinais de mim, só puderam concluir que eu perecera com Cerdic e desaparecera de igual forma. Minha mãe e Camlach tinham enviado homens para baterem os arredores, mas naturalmente não encontraram vestígio algum. Parecia que não suspeitavam de que eu pudesse ter partido por mar. O navio mercante não 'ancorara em Maridunum e ninguém vira o bote.
O meu desaparecimento — como era de esperar — causara pouca agitação. O que minha mãe pensara ninguém sabia, mas aparentemente retirara-se para a reclusão do convento de São Pedro, quase em seguida. Camlach não perdera tempo em proclamar-se rei e por uma questão de formalidade oferecera proteção a Olwen, mas já que a esposa tivera um filho e esperava um segundo, era um segredo conhecido que a rainha Olwen logo se casaria com algum chefe inofensivo e preferivelmente distante... E assim por diante.
Isto quanto às notícias do passado, que não eram novidade nem para mim, nem para Ambrosius. Quando Dinias terminou a refeição e se recostou à parede desapertando o cinto, descontraído pela comida, pelo vinho e pelo calor, julguei que era hora de mudar para perguntas mais próximas e imediatas sobre o presente. A taverna enchia-se agora e havia bastante barulho para encobrir o que dizíamos. Umas duas moças tinham saído dos quartos internos e havia muitos risos e brincadeiras. Estava bastante escuro lá fora e aparentemente mais úmido do que nunca. Os homens entravam sacudindo-se como cães, pedindo bebidas quentes aos gritos. O ar estava carregado de fumaça de turfa e o carvão das grelhas, odores da comida quente, e mau cheiro de lâmpadas de óleo barato. Eu não temia ser reconhecido. Qualquer um teria que se debruçar sobre nossa mesa e perscrutar-me bem o rosto até mesmo para ver-me.
— Quer que mande trazer mais carne? — perguntei. Dinias sacudiu a cabeça, arrotou e sorriu.
— Não, obrigado. Estava bom. Sou-lhe grato. Agora as suas notícias. Já ouviu as minhas. Onde esteve estes anos todos? — Estendeu a mão para o jarro de vinho outra vez, virando-o de cabeça ara baixo sobre o copo vazio. — O desgraçado está vazio. Pedimos mais?
Hesitei. Parecia-me que a cabeça dele não era boa para vinho e eu não o queria bêbedo cedo demais. Ele compreendeu mal minha hesitação.
— Vamos, vamos, certamente não me vai negar outro jarro de vinho, vai? Não é todo dia que um parente rico volta de Cornwall. Que o atraiu lá, hem? E o que esteve fazendo esse tempo todo? Vamos, jovem Myrddin, vamos ouvi-lo, não? Mas, primeiro o vinho.
— Bem, naturalmente — disse eu e dei ordem para o menino que servia. — Mas não use meu nome aqui por favor, se não se importa. Estou usando o nome de Emrys até ver para que lado sopra o vento.
Ele aceitou isso tão prontamente que percebi que as coisas estavam ainda mais arriscadas em Maridunum do que eu pensara. Parecia que era perigoso até mesmo usarem-se nomes. A maioria dos homens na taverna pareciam galeses. Não havia ninguém que eu reconhecesse, o que não chegava a surpreender-me, considerando a companhia com quem andava há cinco anos atrás. Mas havia um grupo junto à porta que, pelo cabelo e barba claros, deveriam ser saxões. Julguei que fossem homens de Vortigern. Não falamos até que o menino colocasse uma garrafa nova à nossa frente. Meu primo» serviu-se, afastou o prato e recostou-se, fitando-me inquisitivo.
— Bem, vamos, conte-me o que tem feito. O que aconteceu na noite em que partiu? Com quem foi? Você não deveria ter mais que doze ou treze anos quando desapareceu, não?
— Encontrei uns mercadores que seguiam para o sul — contei-lhe. — Paguei minha passagem com um dos broches que meu a... que o velho rei me dera. Levaram-me com eles até Glastonbury. Então tive um pouco de sorte e encontrei outro mercador que ia para o Oeste até Cornwall com artigos de vidro da Ilha e que me permitiu acompanhá-lo. — Baixei os olhos como se evitasse seu olhar e girei o copo entre as mãos. Ele queria estabelecer-se como cavalheiro e achou que seria apropriado ter um menino que cantasse e tocasse harpa além de ler e escrever.
— Hum. Muito provável. — Eu sabia o que ele iria pensar a minha história e, na verdade, seu tom denunciava satisfação, como se o desprezo que me votava se justificasse. Tanto melhor assim. Não me faria diferença o que ele pensasse. — Então? — perguntou-me.
— Oh, fiquei assim alguns meses e ele era muito generoso, tanto ele quanto seus amigos. Consegui até pôr alguma coisa de lado...
— Tocando harpa? — perguntou, revirando os lábios.
— Tocando harpa — respondi brandamente. — E também lendo e escrevendo... eu fazia a contabilidade para ele. Quando voltamos ao Norte, queria que eu continuasse com ele, mas eu não quis voltar. Não tinha coragem — acrescentei com toda a franqueza. — Não era difícil encontrar lugar numa casa religiosa. Oh, não, eu era muito jovem para ser mais que um leigo. Para lhe dizer a verdade, gostei muito. É uma vida tranqüila. Ocupei-me em ajudá-los a passar a limpo cópias da história da queda de Tróia. — Sua expressão deu-me vontade de rir e baixei os olhos para o caneco novamente. Era de louça boa, de Samia, o esmalte grosso, e a marca do oleiro ainda legível. A. M. Ambrosius made me{*), pensei de súbito e alisei as letras carinhosamente com o polegar enquanto terminava para Dinias o relato dos cinco anos inofensivos do seu primo bastardo. — Trabalhei lá até que começaram a chegar os boatos de casa. Não lhes prestei muita atenção a princípio... os boatos estão sempre correndo. Mas quando soube que era verdade que Camlach morrera e a seguir Vortimer, comecei a imaginar o que poderia ter acontecido em Maridunum. Senti que precisava rever minha mãe.
(*) Fabricado por Ambrosius (N. do T.)
— Não vai ficar aqui?
— Duvido muito. Gosto de Cornwall, e tenho lá uma espécie de lar.
— Então vai-se tornar padre? Dei de ombros.
— Ainda não sei. Afinal é o que sempre quiseram que eu fizesse. Não importa que futuro haja lá, o meu lugar já não existe, se é que algum dia existiu. E certamente não sou guerreiro.
Ele sorriu a isto.
— Bem, para dizer a verdade, você nunca foi, não é? E a guerra aqui não está terminada. Mal começou, deixe-me dizer-lhe. — E debruçou-se na mesa confidencialmente, mas o movimento derrubou o copo, que rolou, escorrendo o vinho pela borda. Ele agarrou-o e conseguiu firmá-lo. — Quase derramei e o vinho está no fim outra vez. Não é nada mal, hem? Que tal outro?
— Se quiser. Mas estava dizendo...?
— Cornwall. Sempre pensei em ir lá. O que dizem de Ambrosius?
O vinho já estava produzindo efeito. Esquecera-se da confidencia. a voz elevava-se e vi algumas cabeças voltarem-se para nós.
Ele ignorou-as.
— É, imagino que se ouviria alguma coisa lá, se houvesse notícias para serem ouvidas. Dizem que é lá que ele irá desembarcar, hem?
— Oh! — disse eu, bem-humorado. — Há boatos o tempo todo. £ isso há anos, sabe como é. Ele ainda não veio, assim o seu palpite é tão válido quanto o meu.
— Quer apostar? — Vi-o meter a mão na bolsa que trazia à cintura e puxar um par de dados, que atirou despreocupado de uma mão para a outra — Vamos, que tal um joguinho?
— Não, obrigado. Pelo menos, não aqui. Olhe, Dinias, vou-lhe fazer uma proposta: que tal pedirmos mais uma garrafa ou duas se quiser e irmos para casa bebê-las?
— Casa? — exclamou, desdenhoso, com a boca frouxa. — Onde fica isso? Um palácio vazio?
Ele continuava a falar alto e do outro lado da sala percebi alguém que nos observava. Ninguém que eu conhecesse. Dois homens de roupas escuras: um deles de barba rente, o outro de rosto magro, ruivo, com um nariz comprido como o de uma raposa. Galeses, pelo jeito. Tinham uma garrafa no banquinho diante deles, e as canecas nas mãos, mas a garrafa permanecia no mesmo nível há bem uma meia hora. Olhei para Dinias. Julguei que atingira agora o estado de ânimo que o predispunha a confidencias amistosas ou a discussões violentas. Insistir em sair poderia significar uma briga e se estávamos sendo vigiados, e se a aglomeração junto à porta se compusesse realmente de homens de Vortigern, seria melhor continuar ali e conversar calmamente do que levar meu primo para a rua e talvez sermos seguidos. O que, afinal de contas, importaria a menção do nome de Ambrosius? Logicamente estaria na boca de todo o povo e se, como parecia provável, os boatos estivessem mais fortes que de costume, todos, tanto amigos quanto inimigos de Vortigern, estariam a discuti-los.
Dinias deixara cair os dados sobre a mesa e com um indicador razoavelmente firme empurrava-os de cá para lá. Ao menos nos proporcionariam uma desculpa para juntarmos as cabeças em conversa no nosso canto. E os dados talvez desviassem sua atenção da garrafa de vinho.
Produzi uma mão cheia de moedas.
— Olhe, se quer realmente jogar. O que tem para apostar?
Enquanto jogávamos, eu estava consciente de que o Barbanegra e a raposa estavam a nos escutar. Os saxões perto da porta pareciam bastante inofensivos, a maioria já três quartos bêbeda, falando alto entre si, não prestando atenção a mais nada. Mas o Barbanegra mostrava-se interessado.
Lancei os dados. Cinco e quatro. Bom demais. Eu queria que Dinias ganhasse alguma coisa. Não poderia oferecer-lhe dinheiro para que fosse para trás da cortina com uma moça. Entrementes, para despistar o Barbanegra...
Eu disse, então, não muito alto, mas bastante claro:
— Ambrosius, não é? Bem, você conhece os boatos. Não ouvi nada de positivo sobre ele, apenas as histórias de sempre, que vêm circulando nos últimos dez anos. Oh, sim, dizem que virá a Cornwall, ou Maridunum, ou Londres, ou Avon... pode escolher... É a sua vez. — A atenção do Barbanegra desviara-se. Cheguei mais perto para observar o lance de Dinias e baixei a voz. — E, se ele viesse agora, o que aconteceria? Você deve saber melhor do que eu. Será que o que sobra do Oeste se levantaria com ele ou permaneceria fiel a Vortigern?
— O Oeste se levantaria em chamas. Já fez isso antes, sabe Deus. Dobra ou desiste? Chamas como as da noite em que você partiu. Meu Deus, como me ri! O pequeno bastardo ateia fogo ao palácio e parte. Por que fez aquilo? É minha: dois cincos. Jogo outra vez.
— Certo. Por que parti, quer dizer? Já lhe disse, tinha receio de Camlach.
— Não foi isso que perguntei, e sim por que ateou fogo ao palácio? Não me diga que foi um acidente, porque não acredito.
— Foi uma pira funerária. Acendi-a porque mataram o meu criado.
Ele encarou-me, os dados ainda na mão.
— Você tacou fogo no palácio do Rei por causa de um escravo?
— Por que não? Acontece que eu gostava mais do meu escravo do que de Camlach.
Ele me lançou um olhar ligeiramente embriagado e atirou os dados. Um dois e um quatro. Puxei de volta algumas moedas.
— Desgraçado! — disse Dinias. — Você não tem o direito de ganhar, já possui o bastante. Muito bem, outra vez. Seu criado, então I Usa um tom bem arrogante para um bastardo que se faz de escriba numa cela de padre.
Sorri.
— Você também é bastardo, lembre-se, querido primo.
— Talvez, mas ao menos sei quem foi meu pai.
— Fale baixo, as pessoas estão escutando. Muito bem, é sua vez.
Uma pausa enquanto os dados rolavam. Observei-os um tanto ansioso. Até agora a tendência fora favorecer-me. Como seria útil e o poder pudesse influenciar essas pequenas coisas 1 pensei. Não requereria esforço e tornaria tudo mais suave. Mas eu começava a aprender que na realidade o poder não tornava nada mais fácil. Quando vinha, era como segurar um lobo pelo pescoço. Às vezes, sentia-me como aquele menino da lenda antiga que encilhava os cavalos do Sol e percorria o mundo como um deus até que o poder o matou carbonizado. Não sabia eu se algum dia sentiria outra vez as chamas.
Os dados escorregaram dos meus dedos muito humanos. Dois e um. Não há necessidade de poder quando se pode ter sorte. Dinias rosnou de satisfação e recolheu-os enquanto eu empurrava algumas moedas na sua direção. O jogo continuou. Perdi os três lances seguintes e a pilha dele cresceu consideravelmente. Ele começou a descontrair-se. Ninguém nos prestava atenção agora. Fora minha imaginação. Talvez estivesse na hora de extrair mais alguns fatos.
— Onde está o Rei agora?
— Ah? Oh, sim, o Rei. Já está fora daqui há um mês. Mudou-se para o Norte assim que o tempo melhorou e as estradas foram abertas.
— Para Caer'n-ar-Von? Você tinha dito Segontium!
— Disse? Oh, bem, suponho que ele a considere sua base, mas quem quereria ser apanhado naquela ponta entre Y Wyddfa e o mar? Não, ele está construindo para si uma nova fortaleza, dizem. Você falou em pedir outra garrafa?
— Aí vem ela. Sirva-se, já bebi o suficiente. Uma fortaleza, diz você? Onde?
— O quê? Oh, sim! É um bom vinho esse. Não sei exatamente onde está construindo... em alguma parte de Snowdon. Já lhe disse. Chamam-na de Dinas Brenin... ou a chamariam se a conseguissem construir.
— O que é que os impede? Ainda há problemas lá? A facção e Vortimer ou coisa nova? Dizem em Cornwall que ele tem trinta mil saxões às suas costas.
— Às suas costas e dos dois lados — saxões por toda a parte, tem o nosso Rei. Mas não com ele. Com Hengist, e Hengist e o Rei não estão lá muito de acordo. Oh, ele está cercado, Vortigern está, posso afirmar-lhe! — Felizmente ele falava baixo e as palavras se perdiam no chocalhar dos dados e no tumulto à nossa volta. Ele franziu o cenho para a mesa ao lançar os dados. — Olhe para isto. Essas coisinhas malditas estão enfeitiçadas. Como o Forte do Rei.
Em algum ponto as palavras fizeram vibrar as cordas de uma lembrança que ressoou fugaz e indefinível como uma abelha nos pés de lima. Perguntei, indiferente, fazendo o meu lance:
— Enfeitiçado? Como?
— Ah, assim está melhor. Devo ser capaz de batê-lo. Oh, bem, você conhece esses homens do Norte: se o vento sopra mais frio uma manhã, dizem que é um espírito passando. Não usam observadores naquele exército, os adivinhos se encarregam de tudo. Soube que já construíram as paredes quatro vezes até a altura de um homem, e todas as vezes, na manhã seguinte, encontram-nas rachadas de uma ponta a outra... Que tal?
— Não está mal. Receio que não possa batê-lo. Postaram guardas lá?
— Naturalmente. Eles nada viram.
— Por que deveriam ver? — Parecia que a sorte estava contra nós dois. Os dados estavam enfeitiçados para Dinias como as muralhas de Vortigern. Contra a minha vontade, consegui um par de dois. Carregando os sobrolhos, Dinias empurrou metade de sua pilha para mim. Eu disse: — Parece que ele escolheu um lugar pouco firme. Por que não muda?
— Escolheu o topo de um penhasco, um lugar tão bom para defender como não há outro em Gales. Controla o vale para o norte e para o sul sobre o ponto da estrada em que os penhascos se estreitam de ambos os lados e a estrada fica espremida sob o penhasco. E diabos, já existiu uma torre lá antes. A gente local chama-a de Forte do Rei há centenas de anos.
Forte do Rei... Dinas Brenin... O zumbido cresceu, transformando-se numa lembrança clara. Bétulas brancas como ossos contra um céu azul leitoso. O grito do falcão. Dois reis passeando juntos e a voz de Cerdic dizendo: "Desça e lhe arranjo para entrar num joguinho de dados."
Antes que desse por mim, consegui-o tão bem quanto o próprio Cerdic: bati nos dados que ainda giravam, com um dedo rápido. Dinias, virando a garrafa vazia na caneca, nem notou. Os dados assentaram. Dois e um. Eu disse, triste:
— Você não terá muita dificuldade em bater isso.
Ele bateu, mas por um triz. Puxou as moedas para si com um grunhido de satisfação, então esparramou-se pela mesa, o cotovelo numa poça de vinho. Mesmo que eu conseguisse deixar esse bêbedo idiota ganhar o suficiente, pensei, teria sorte se pudesse arrastá-lo até a cortina que levava aos quartos do bordel. Meu lance outra vez. Ao sacudir a caixa, vi Cadal na porta esperando que eu o notasse. Estava na hora de ir-me. Acenei com a cabeça e ele retirou-se.
Quando Dinias olhou querendo saber para quem eu acenara, atirei os dados novamente e virei um seis com a manga. Um e três. Dinias soltou uma exclamação de satisfação e estendeu a mão para a caixa.
— Vou-lhe dizer uma coisa — falei eu. — Mais um lance e vamo-nos, perdendo ou ganhando. Comprarei outra garrafa e levamo-la conosco para beber nos meus aposentos. Estaremos mais confortáveis do que aqui.
Uma vez que o levasse para fora, calculei, Cadal e eu nos encarregaríamos dele.
— Aposentos? Eu poderia ter-lhe oferecido aposentos. Há bastante lugar lá, não precisava ter mandado o criado procurar alojamento. É preciso ser cuidadoso nos dias que correm, sabe? Aí. Um par de cincos. Bata isso, se puder, Merlin bastardo.
Ele virou o resto do vinho pela garganta, engoliu e recostou-se, sorrindo.
— Entrego-lhe o jogo.
Empurrei as moedas para ele e fiz com que se erguesse. Quando olhei em meu redor à procura do menino que servia para pedir a garrafa prometida, Dinias bateu a mão na mesa com estrondo. Os dados pularam e chocalharam e um caneco rolou, partindo-se no chão. Os homens pararam de conversar, encarando-nos.
— Oh, não, isso não! Vamos jogar até o fim! Sair na hora em que a sorte está começando a virar, não é? Não vou aturar isso de você nem de ninguém! Sente-se e jogue, meu primo bastardo...
— Oh, pelo amor de Deus, Dinias...
— Está bem, eu também sou bastardo! Só posso dizer que é melhor ser bastardo de um rei do que filho de pai desconhecido, que nunca teve pai!
Ele terminou com um soluço e alguém riu. Ri também e estendi a mão para os dados.
— Muito bem, levaremos os dados conosco. Já lhe disse que, perdendo ou ganhando, levaremos uma garrafa para casa. Poderemos terminar o jogo lá. Está na hora de bebermos juntos até dormir.
Uma mão caiu pesada sobre o meu ombro. Quando me virei ira ver quem era, alguém acercou-se do outro lado e agarrou-me o braço. Vi Dinias arregalar os olhos de boca aberta. À nossa volta todos os que bebiam ficaram subitamente silenciosos.
Barbanegra apertou-me mais.
— Quieto, jovem senhor. Não queremos uma discussão, não é? Podemos falar com você lá fora?
Pus-me de pé. Não percebi indicação alguma nos rostos que me observavam ao redor. Ninguém falava.
— De que se trata?
— Lá fora, faz favor — repetiu Barbanegra. — Não queremos uma...
— Não me importo nem um pouquinho de discutir — interrompi-o, decidido. — Vão-me dizer quem são, antes que eu dê mais um passo com vocês. E, para começar, tirem as mãos de cima de mim. Taberneiro, quem são estes homens?
— Homens do Rei, senhor. É melhor fazer o que dizem. Quem não tem nada a esconder...
— "Nada tem a temer?" — disse eu. — Conheço essa, e nunca é verdadeira. — Afastei a mão de Barbanegra do meu ombro e voltei-me para encará-lo. Vi Dinias observar-me de boca aberta. Esse, devia estar imaginando, não era o primo de voz mansa que ele conhecia. Bem, o tempo para isso acabara. — Eu não me importo de que os presentes ouçam o que têm a dizer. Digam-me aqui mesmo. O que querem falar comigo?
— Estamos interessados no que seu amigo estava dizendo.
— Então por que não conversam com ele? Barbanegra respondeu, imperturbável:
— Tudo ao seu tempo. Se me disser quem é e de onde vem?..
— Meu nome é Emrys e nasci aqui em Maridunum. Fui para Cornwall há alguns anos, quando era criança, e agora quis vir a casa saber notícias. É só.
— E esse rapaz? Ele o chamou de primo.
— Foi uma maneira de falar. Somos aparentados, mas não é bem assim. Provavelmente também ouviu-o chamar-me de bastardo.
— Espere um instante. — A voz surgiu às minhas costas, entre o aglomerado. Um homem idoso de cabelo ralo e grisalho, ninguém que eu reconhecesse, abriu caminho em direção a nós. — Eu o conheço. Está dizendo a verdade. Ora, é Myrddin Emrys, sem dúvida, o neto do velho Rei. — E para mim: — O senhor não deve lembrar-se de mim. Eu era o camareiro do seu avô, um deles. E vou dizer uma coisa — e esticou o pescoço como uma galinha, encarando o Barbanegra. — Homens do Rei ou não, vocês não têm o direito de pôr a mão nesse jovem cavalheiro. Ele disse a verdade. Saiu de Maridunum há cinco anos atrás... é verdade, cinco, na noite em que o velho Rei morreu... e ninguém soube para onde tinha ido. Mas farei qualquer juramento que quiserem que ele nunca levantaria a mão contra o rei Vortigern. Ora, ele estava estudando para padre, e nunca pegou em armas na vida. E, se quer beber sossegado com o Príncipe Dinias, ora, eles são aparentados, conforme disse, e com quem mais iria ele beber para saber notícias de casa? — Inclinou a cabeça para mim, carinhosamente. — Sim, é verdade, esse é Myrddin Emrys, agora um adulto em vez de um garotinho, mas eu o reconheceria em qualquer parte. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, senhor, estou muitíssimo satisfeito de vê-lo a salvo. Receávamos que tivesse morrido no incêndio.
Barbanegra nem o olhara. Estava postado entre mim e a porta. Nem uma só vez tirou os olhos de mim.
— Myrddin Emrys. O neto do velho Rei — disse lentamente. - E bastardo? Filho de quem, então?
Não adianta negar. Eu reconhecia o camareiro agora. Ele acenava para mim, satisfeito consigo mesmo. Disse:
— Minha mãe era a filha do Rei. Niniane. Os olhos escuros estreitaram-se.
— É verdade?
— Bem verdade, bem verdade. — Era o camareiro, sua boa vontade comigo patente nos olhos azul-pálidos e estúpidos.
Barbanegra voltou-se para mim outra vez. Vi a pergunta seguinte formar-se nos seus lábios. Meu coração batia e eu sentia o sangue subir-me no rosto. Tentei controlar-me.
— E seu pai?
— Não sei.
Talvez ele pensasse que o rubor no meu rosto era vergonha.
— Fale com cuidado agora — disse Barbanegra. — O senhor neve saber. Quem o gerou?
— Não sei.
Ele encarou-me.
— Sua mãe, a filha do Rei. Lembra-se dela?
— Lembro-me muito bem.
— E ela nunca lhe contou? Quer que acreditemos nisso? Respondi irritado:
— Não me faz diferença se acredita ou não. Estou cansado disso. Toda a minha vida estão sempre a perguntar-me e toda a minha vida as pessoas não acreditam. É verdade, ela nunca me contou. E duvido de que tenha contado a alguém. Pelo que sei, ela poderia até estar falando a verdade quando disse que fui gerado pelo diabo. — Fiz um gesto de impaciência. — Por que pergunta?
— Ouvimos o que o outro cavalheiro disse. — Seu tom e seu olhar eram imperturbáveis. — "Prefiro ser bastardo e ter um rei por pai do que ser filho de um pai desconhecido e nunca ter tido pai!"
— Se eu não me ofendi, por que se ofenderia você? Pode ver que ele bebeu demais.
— Queríamos ter certeza, é só. E agora já temos. O Rei quer vê-lo.
— O rei? — Devo ter parecido estúpido. Ele assentiu.
— Vortigern. Estamos à sua procura há três semanas. Deverá comparecer à presença dele.
— Não compreendo.
Devo ter parecido perplexo e não amedrontado. Já visualizava minha missão a desmoronar-se ao meu redor, mas com isso uma mistura de confusão e alívio. Se estavam à minha procura há três semanas, certamente o fato nada teria a ver com Ambrosius.
Dinias deixara-se ficar quieto a um canto. Achei que a maior parte do que fora dito não penetrara no seu cérebro, mas agora ele se curvava para a frente, as mãos espalmadas sobre a mesa molhada de vinho.
— Para que ele o quer? Diga-me.
— Não precisa preocupar-se — respondeu o Barbanegra, quase desdenhoso. — Não é a você que ele quer. Mas, digo-lhe uma coisa, já que nos conduziu ao rapaz, é o senhor quem deverá receber a recompensa.
— Recompensa? — perguntei. — Que conversa é essa? Dinias tornou-se de súbito completamente sóbrio.
— Eu não fiz nada. Que quer dizer? Barbanegra assentiu.
— Foi o que o senhor disse que nos levou a ele.
— Ele estava apenas perguntando pela família, esteve fora — disse meu primo. — Vocês estavam ouvindo. Qualquer um poderia ter ouvido, não falávamos em voz baixa. Pelos deuses, se quiséssemos conspirar, iríamos conversar aqui?
— Ninguém falou em conspiração. Estou apenas cumprindo o meu dever. O Rei quer vê-lo e ele terá que vir comigo.
O velho camareiro falou, parecendo preocupado agora:
— Vocês não podem fazer-lhe mal. Ele é quem diz ser, filho de Niniane. Podem perguntar a ela própria.
Isto fez com que Barbanegra se voltasse para ele rapidamente: — Ela ainda vive?
— Oh, sim, está viva, sim. Logo ali, no convento de São Pedro, passando o velho carvalho na encruzilhada.
— Deixem-na em paz — exclamei, realmente amedrontado. Imaginava o que poderia ela contar-lhes. — Não se esqueça de quem é ela. Mesmo Vortigern não ousará tocá-la. Além do mais, você não tem autoridade. Nem sobre ela, nem sobre mim.
— Acha que não?
— Bem, que autoridade tem?
— Esta. — A espada curta brilhou na sua mão. Estava tão afiada que ofuscava.
— A lei de Vortigern, é? Bem, não é um mau argumento. Eu o acompanharei, mas não vai conseguir muito com minha mãe. Deixe-a em paz, digo-lhe. Ela não lhe vai contar mais do que eu já contei.
— Mas, pelo menos, não precisaremos acreditar quando ela disser que não sabe.
— Mas é verdade. — Era o camareiro ainda tagarelando. — Digo-lhe, servi no palácio toda a minha vida e estou bem lembrado. Costumava-se dizer que ela tivera um filho do diabo, do príncipe das trevas.
Mãos agitaram-se quando as pessoas fizeram o sinal. O velho continuou, os olhos postos em mim:
— Vá com eles, filho, eles não farão mal ao filho de Niniane nem tampouco a ela. Haverá um tempo em que o Rei irá precisar do povo do Oeste, e quem sabe melhor que ele?
— Parece que terei de ir, com essa ordem de apreensão do Rei apontada para a garganta — disse eu. — Está bem, Dinias, não foi sua culpa. Diga ao meu criado onde estou. Muito bem, vocês, levem-me a Vortigern, mas tirem as mãos de cima de mim.
Encaminhei-me para a porta entre os dois, os presentes abrindo ninho para nós. Vi Dinias pôr-se de pé aos tropeções e acompanhar-nos. Quando chegamos à rua, Barbanegra voltou-se.
— Ia-me esquecendo. Aqui, é seu.
A bolsa do dinheiro tilintou ao bater no chão aos pés do meu primo.
Não me virei. Mas, ao sair, vi, mesmo sem olhar, a expressão no rosto do meu primo quando, ao virar-se rapidamente para a direita e para a esquerda, se curvou para apanhar a bolsa e a meteu na cintura.
Vortigern mudara. A minha impressão de que ele se tornara menor, menos imponente, não era porque eu próprio, ao invés de uma criança, fosse agora um rapaz alto. Ele crescera, como que para dentro de si mesmo. Não tinha necessidade do simulacro de corte, da corte que era mais uma reunião de chefes guerreiros c de algumas mulheres que conseguiram reter, a indicar que eram homens em fuga. Ou antes, homens acuados a um canto. Mas um lobo acuado é mais perigoso do que um lobo livre, e Vortigern era ainda um lobo.
E certamente escolhera bem o seu canto. O Forte do Rei, segundo eu me lembrava, era um penhasco que dominava o vale do rio, o topo somente atingível por uma estreita trilha semelhante a uma ponte. Esse promontório projetava-se de uma escavação circular na encosta da montanha, onde podiam pastar os cavalos e recolher-se também os outros animais. Ao redor de todo o vale erguiam-se montanhas cinzentas de cascalho ainda não cobertas pelo verde da primavera. Tudo o que as chuvas de abril tinham conseguido fora produzir uma longa cascata que descia dos picos a trezentos metros, até embaixo, no vale. Um lugar selvagem, escuro e impressionante. Se o lobo se escondesse no alto do penhasco, mesmo Ambrosius teria dificuldades em desalojá-lo.
A viagem levou seis dias. Partimos à primeira claridade do dia pela estrada que sai de Maridunum para o norte, uma estrada pior do que a que corre para oeste, mas mais rápida, mesmo considerando os atrasos causados pelo mau tempo e o passo lento das liteiras das mulheres. A ponte cedera em Pennal e de alguma forma desaparecera, e levamos quase meio dia para atravessar o rio Afon Dyfi antes de podermos continuar a duras penas para Tomen-y-mur, onde a estrada era boa. Na tarde do sexto dia, dobramos para a trilha ao longo do rio, na direção de Dinas Brenin, onde se encontrava o Rei.
Barbanegra não tivera dificuldade alguma em persuadir o Consto de São Pedro a que deixasse minha mãe acompanhá-lo à presença do Rei. Isto era bastante compreensível se usara as mesmas táticas que comigo, mas não tive oportunidade de perguntar a ela ou mesmo de descobrir se sabia mais do que eu por que Vortigern queria ver-nos. Haviam providenciado uma liteira fechada para ela, e duas mulheres da casa religiosa acompanhavam-na. Já que estavam ao seu lado dia e noite, era impossível abordá-la para uma conversa particular, e de fato ela não deu mostras de me querer ver a sós. Às vezes, eu a surpreendia observando-me com um olhar ansioso e talvez mesmo perplexo, mas quando ela falava, parecia calma e distante, sem mesmo uma única indicação de que soubesse coisa alguma que o próprio Vortigern não pudesse ouvir. Já que não me era permitido vê-la a sós, julguei melhor contar-lhe a mesma história que eu impingira a Barbanegra, e até a mesma que eu contara a Dinias (pois, ao que eu sabia, poderiam até tê-lo interrogado). Deixei que ela pensasse o que quisesse sobre a mesma e sobre as razões que eu teria para não ter entrado em contato com ela há mais tempo. Naturalmente, era impossível mencionar a Bretanha, ou mesmo amigos da Bretanha, sem arriscar que descobrisse a respeito de Ambrosius, e isso eu não ousava fazer.
Achei-a muito mudada. Estava pálida e quieta, engordara, e talvez por isso apresentava um certo peso de espírito que não possuía antes. Só depois de dois dias de sacolejões pelas montanhas rumo ao norte, é que subitamente me ocorreu o que era: ela perdera todo o poder. Quer tivesse sido levado pelo tempo, ou pela doença, ou quer tivesse renunciado a ele em favor do símbolo cristão que trazia ao peito, eu não tinha meios de descobrir. Mas, o fato é que ele se fora.
Quanto a uma coisa minha mente sossegou de pronto. Minha mãe estava sendo tratada com cortesia, e até com a distinção a que fazia jus a filha de um rei. Não recebi tal distinção, mas deram-me um bom cavalo, alojaram-me com conforto à noite, e meus acompanhantes eram bastante educados quando eu me dirigia a eles. Afora isso, preocuparam-se muito pouco comigo. Não davam resposta alguma às minhas perguntas, embora me parecesse que soubessem muito bem para que queria ver-me o Rei. Surpreendi-os lançando-me olhares curiosos e furtivos e, uma ou duas vezes, olhares de piedade.
Fomos levados diretamente ao Rei. Ele estabelecera seu quartel-general no terreno plano entre o penhasco e o rio, de onde esperava supervisar a construção da fortaleza. Era um acampamento muito diferente até mesmo dos campos simulados de Uther e Ambrosius. A maioria dos homens estava alojada em tendas e, salvo por aterros altos e uma paliçada do lado da estrada, aparentemente confiavam nas defesas naturais do lugar: o rio e o penhasco de um lado, o rochedo de Dinas Brenin do outro, e as montanhas impenetráveis e vazias por trás deles.
Vortigern instalara-se como condizia a um rei. Recebeu-nos num salão de pilares de madeira cobertos de cortinas bordadas em cores vivas e o chão da ardósia esverdeada local estava espessamente forrado de juncos. A cadeira alta no estrado era realmente entalhada e dourada. Ao seu lado, numa cadeira igualmente ornamentada e apenas um pouco menor, sentava-se Rowena, sua rainha saxônica.
A sala estava cheia. Encontravam-se até alguns homens em trajes de cortesão, mas a maioria dos presentes estava armada. Havia um número razoável de saxões. Por trás da cadeira de Vortigern, sobre o estrado, postava-se um grupo de sacerdotes e homens santos.
Fez-se silêncio quando entramos. Todos os olhares convergiram para nós. O Rei levantou-se e, descendo do estrado, veio ao encontro de minha mãe, sorrindo, com as mãos estendidas.
— Dou-lhe as boas-vindas, Princesa — disse e voltou-se para apresentá-la com a reverência cerimonial à Rainha.
Correram sussurros pelo salão, as pessoas entreolhavam-se. Com essa saudação o Rei tornara claro que não considerava minha mãe responsável pelo papel de Camlach na recente rebelião. Olhou para mim, rapidamente mas creio que com agudo interesse, acenou cumprimentando-me, e então, pousando a mão de minha mãe no seu braço, conduziu-a ao estrado. A um aceno da sua cabeça, alguém correu a colocar uma cadeira no degrau abaixo do dele. Mandou-a sentar-se, e ele e a Rainha retomaram seus lugares. Adiantando-me com os guardas às costas, parei junto ao estrado, frente ao Rei.
Vortigern pousou as mãos abertas nos braços da cadeira e sentou-se empertigado, sorrindo de minha mãe para mim com um ar de boas-vindas e até de satisfação. O zumbido dos murmúrios cessara. Fez-se silêncio. Os presentes nos encaravam, expectantes.
Mas o Rei apenas disse a minha mãe:
— Peço-lhe perdão, senhora, por forçá-la a uma viagem nesta época do ano. Espero que lhe tenham proporcionado suficiente conforto.
E a isso acrescentou pequenas e suaves cortesias enquanto as pessoas continuavam a olhar e a aguardar, e minha mãe baixou a cabeça e murmurou respostas polidas, tão empertigada e indiferente quanto ele. As duas freiras que a acompanhavam postaram-se atrás dela, como damas de honra. Ela levou uma mão ao peito, tocando a pequena cruz que trazia como um talismã; a outra continuou entre as dobras castanhas do regaço. Mesmo no hábito simples e castanho ela parecia real.
Vortigern disse sorrindo:
— Agora quer apresentar-me seu filho?
— O nome do meu filho é Merlin. Deixou Maridunum há cinco anos atrás, logo depois da morte do meu pai, seu parente. Desde então, tem estado em Cornwall numa casa religiosa. Recomendo-o ao senhor.
O Rei voltou-se para mim.
— Cinco anos? Seria então apenas uma criança, Merlin. Que idade tem agora?
— Tenho dezessete, senhor. — Retribuí seu olhar com firmeza.
— Por que mandou buscar-nos, a minha mãe e a mim? Mal pus os pés em Maridunum e seus homens apanharam-me a força.
— Quanto a isso, sinto muito. Queira perdoar-lhes o zelo. Eles só sabiam que o assunto era urgente, e tomaram medidas rápidas para executar o meu desejo. — Voltou-se novamente para minha mãe. — Será que preciso assegurar-lhe, Lady Niniane, que nenhum mal lhe advirá? Juro-o. Sei que está na Casa de São Pedro há cinco anos e que a senhora nada teve a ver com a aliança de seu irmão com meus filhos.
— Nem com meu filho, my lord — acrescentou ela calmamente.
— Merlin saiu de Maridunum na noite em que meu pai morreu e daquele dia até hoje eu nada soube dele. Mas, uma coisa é certa, não tomou parte na rebelião. Ora, era apenas uma criança quando saiu de casa... e, na verdade, agora que sei que fugiu para o sul naquela noite, para Cornwall, só posso presumir que tenha sido por medo do meu irmão Camlach, que não era seu amigo. Asseguro-lhe, my lord, que o que quer que eu tenha adivinhado das intenções do meu irmão para com o senhor, meu filho ignorava. Não imagino por que o senhor teria mandado buscá-lo.
Para minha surpresa, Vortigern nem mesmo pareceu interessado na minha estada em Cornwall e tampouco voltou a olhar-me. Descansou o queixo no punho e observou minha mãe sob o cenho franzido. Sua voz e seu olhar eram igualmente graves e corteses, mas havia alguma coisa no ar que não me agradava. De repente percebi o que era. Mesmo enquanto minha mãe e o Rei conversavam, observando-se um ao outro, os sacerdotes atrás da cadeira do Rei não despregavam os olhos de mim. E quando passei um olhar de esguelha pelas pessoas no salão descobri que também tinham os olhos postos em mim. O salão aquietara-se e pensei de súbito: Agora ele vai chegar lá.
Ele disse, calmo, quase pensativo.
— Nunca se casou.
— Não. — Suas pálpebras baixaram, epercebi queela se tornara repentinamente preocupada.
— O pai de seu filho, então, morreu antes que pudessem casar-se? Morreu em combate, talvez.
— Não, my lord. — Sua voz era baixa, mas perfeitamente clara, vi suas mãos moverem-se e contraírem-se um pouco.
— Então ele ainda vive?
Ela não respondeu, mas inclinou a cabeça de modo que o capuz caiu para a frente, escondendo-lhe o rosto das outras pessoas no salão. Mas os que estavam no estrado ainda podiam vê-la. Observei a Rainha a fitá-la com curiosidade e desprezo. Tinha os olhos azuis-claros e grandes seios, que saltavam brancos como leite pelo apertado corpete azul. As mãos brancas eram como seus seios, mas os dedos, grossos e feios como os de uma criada. Trazia-os cobertos de ouro, esmalte e cobre.
As sobrancelhas do Rei franziram-se ao silêncio de minha mãe, mas a voz continuou agradável.
— Diga-me uma coisa, Lady Niniane, algum dia disse ao seu filho o nome do pai?
— Não. — O tom de sua voz cheio e positivo contrastava estranhamente com a postura inclinada da cabeça e o rosto velado. Era a pose de uma mulher que tem vergonha, e perguntei-me se seria intencional, como uma desculpa para o seu silêncio. Eu não conseguia ver-lhe o rosto, mas via a mão que segurava a dobra da saia longa. Lembrei-me muito da Niniane que desafiara o pai ao recusar Gorlan, rei de Lanascol. Uma recordação levou-me a outra, a do rosto de meu pai fitando-me à luz da lâmpada por trás da mesa. Bani-a. Ele estava tão intensamente presente, que me surpreendia que todo o salão cheio de homens não pudesse vê-lo. Então ocorreu-me, de repente, enchendo-me de terror, que Vortigern o tivesse visto. Vortigern sabia. Era por isso que estávamos ali. Ouvira algum boato da minha vinda e procurava certificar-se. Restava saber se eu seria tratado como um espião ou como refém.
Devo ter feito algum movimento inconsciente. Minha mãe ergueu a cabeça e vi-lhe os olhos sob o capuz. Já não parecia uma princesa, mas uma mulher amedrontada. Sorri para ela e alguma coisa voltou ao seu rosto e percebi que temia por mim.
Fiquei imóvel e aguardei. Deixei-o fazer os lances. Havia tempo suficiente para contra-atacar quando ele me tivesse mostrado o terreno.
Ele torceu o grande anel no dedo.
— Foi isso que seu filho contou aos meus mensageiros. E ouvi dizer que ninguém no reino jamais soube o nome do pai dele.
Pelo que me contam, Lady Niniane, e do que conheço da senhora, seu filho nunca poderia ter sido gerado por uma pessoa comum. Por que não dizer-lhe? É uma coisa que um homem precisa saber. Exclamei exaltado, esquecendo a cautela:
— E o que tem o senhor com isso?
Minha mãe lançou-me um olhar que me fez silenciar. Então voltou-se para Vortigern:
— Por que faz tais perguntas?
— Lady — disse o Rei. — Mandei buscá-la hoje, e ao seu filho, para perguntar-lhes apenas isto. O nome do pai dele.
— E eu repito, por que pergunta?
Ele sorriu. Apenas um entrever de dentes. Dei um passo.
— Mãe, ele não tem o direito de perguntar-lhe isso. Não ousará...
— Faça-o calar-se — ordenou Vortigern.
O homem do meu lado tapou-me a boca com a mão e segurou-me firme. Ouviu-se um sibilar de metal quando o outro desembainhou a espada e a encostou em mim. Fiquei quieto.
Minha mãe exclamou:
— Solte-o! Se o ferir, Vortigern, rei ou não, jamais lhe direi, mesmo que me mate. Acha que escondi a verdade de meu próprio pai e do meu irmão e mesmo do meu filho todos estes anos apenas para contá-la quando qualquer um me pedisse?
— Você me contará por causa do seu filho — disse Vortigern. A um aceno seu, o sujeito tirou a mão da minha boca e afastou-se. Mas a mão continuou a prender-me o braço e eu ainda sentia a espada do outro atravessar-me a túnica.
Minha mãe jogara para trás o capuz e estava agora muito empertigada na cadeira, as mãos comprimindo os braços. Pálida e abalada, trajando seu modesto traje castanho, ela fazia a Rainha parecer uma criada. O silêncio do salão era mortal. Atrás da cadeira do Rei, os sacerdotes arregalavam os olhos. Agarrei-me aos meus pensamentos. Se esses homens eram sacerdotes e magos, então nenhum pensamento sobre Ambrosius, e nem mesmo o seu nome deveria passar-me pela mente. Senti o suor brotar-me no corpo e meus pensamentos tentaram alcançar minha mãe e prendê-la, sem formarem uma imagem que aqueles homens pudessem ver. Mas o poder se fora e não vinha ajuda alguma do deus; e eu nem mesmo sabia se seria suficientemente homem para o que adviria uma vez que ela lhes dissesse. Eu não ousava falar. Mas receava que, se usassem de força, ela contaria para me salvar. E quando soubessem, quando começassem a interrogar-me...
Alguma coisa deve tê-la alcançado, porque, voltando-se, fitou-me de novo, movendo os ombros sob o vestido grosseiro como se sentisse ma mão a tocá-la. Quando os seus olhos encontraram os meus, percebi que isso nada tinha a ver com o poder. Ela estava tentando, como fazem as mulheres, dizer-me alguma coisa com os olhos. Era uma mensagem de amor e reafirmação, mas num nível humano, e eu não conseguia entender.
Ela voltou-se para Vortigern.
— Escolheu um lugar estranho para suas perguntas, Majestade. Realmente espera que eu fale dessas coisas aqui, no seu salão, para todos os ouvidos presentes?
Ele refletiu por um instante, de cenho franzido. Havia suor no seu rosto e vi-lhe as mãos contorcerem-se nos braços da cadeira. O homem vibrava como uma corda de harpa. A tensão percorreu o salão, quase tangível. Senti a pele formigar, e um calafrio de medo percorreu-me a espinha. Atrás do Rei, um dos sacerdotes curvou-se para a frente segredando alguma coisa ao Rei. Este fez um sinal de aquiescência com a cabeça.
— As pessoas devem deixar-nos, mas os sacerdotes e magos permanecerão.
Relutantemente e em meio ao burburinho, as pessoas começaram a evacuar o salão. Os sacerdotes ficaram, cerca de uma dúzia de homens com vestes compridas postados atrás das cadeiras do Rei e da Rainha. Um deles, o que falara ao Rei, um homem alto que cofiava a barba cinzenta com a mão suja coberta de anéis, sorria. Pelo traje deveria ser o chefe. Perscrutei seu rosto à procura de indícios de poder, mas nada vi senão a morte. Estava nos olhos de todos. Mais do que isso eu não conseguia ver. O calafrio chegou-me aos ossos outra vez. Continuei preso pelo soldado, sem resistir.
— Solte-o — disse Vortigern. — Não desejo ferir o filho de Lady Niniane. Mas você, Merlin, se se mover ou falar mais uma vez sem permissão, será retirado do salão.
A espada foi afastada, mas o homem ainda a mantinha preparada. Os guardas afastaram-se meio passo de mim. Não falei nem movi. Desde criança que não me sentia tão desamparado, tão despido de conhecimento ou poder, tão longe de Deus. Sabia com amargura que, mesmo que estivesse na gruta de cristal, com as chamas ardendo e os olhos do meu mestre em mim, nada veria. Lembrei-me de repente de que Galapas estava morto. Talvez, pensei eu, o poder só emanasse dele, e se tivesse ido com ele.
O Rei voltara seus olhos fundos para minha mãe. Curvou-se para a frente, o olhar repentinamente penetrante e atento.
— E agora, senhora, quer responder a minha pergunta?
— Com todo prazer — disse ela. — Por que não?
Ela falou tão calmamente que percebi o olhar surpreendido do Rei. Estendeu a mão para afastar o capuz do rosto e encarou-o com os olhos firmes.
— Por que não? Não vejo nenhum mal nisso. Poderia ter-lhe contado mais cedo, my lord, se tivesse perguntado de maneira diversa e em local diverso. Não há mal algum agora que os homens saíram. Já não vivo no mundo e não tenho que encarar o mundo ou ouvir sua maledicência. E agora que sei que meu filho se retirou também do mundo, sei quão pouco se importará com o que o mundo diga dele. Portanto, contar-lhe-ei o que quer saber. E, ao fazê-lo, verá por que nunca falei disso antes, nem mesmo para o meu próprio pai ou para meu filho.
Não havia sinais de medo agora. Ela até sorria. Não me olhou outra vez. Tentei evitar fitá-la, para manter meu rosto impassível. Eu não tinha idéia do que ela pretendia dizer, mas sabia que não haveria traição. Ela estava fazendo um lance próprio e segura de que isto desviaria qualquer perigo que me ameaçasse. Eu tinha certeza de que nada diria sobre Ambrosius. Ainda assim, havia morte por todo o salão. Fora, começara a chover e a tarde caminhava para o crepúsculo. Um criado apareceu na porta trazendo archotes, mas Vortigern mandou-o voltar. Para fazer-lhe justiça, creio que pensava na vergonha de minha mãe, mas refleti: Não virá ajuda nem mesmo dali, nem da luz, nem do jogo...
— Fale então — perguntou Vortigern. — Quem gerou seu filho?
— Nunca o vi — disse ela simplesmente. — Não foi nenhum homem que eu conhecesse. — Fez uma pausa e continuou sem olhar para mim, seus olhos ainda fixos no Rei: — Meu filho me perdoará pelo que vai ouvir em breve, e compreenderá que me forçaram a isto.
Vortigern lançou-me um olhar. Retribuí-o, imperturbável. Tinha certeza dela agora. Ela prosseguiu:
— Quando eu era apenas jovem, com uns dezesseis anos, e sonhava com o amor como fazem as moças, aconteceu-me na véspera da Festa de São Martinho, depois que eu e minhas damas nos tínhamos recolhido. A moça que me fazia companhia no quarto dormia e as outras encontravam-se no quarto externo, mas eu não conseguia dormir. Passado algum tempo, levantei-me e fui à janela. Era uma noite clara de lua. Quando voltava para cama, vi o que tomei por um rapaz, de pé no centro do quarto. Era bonito e jovem, vestia uma túnica e um manto comprido e trazia uma espada curta à cintura. Usava jóias caras. Meu primeiro pensamento foi que ele tivesse penetrado pelo quarto externo enquanto as mulheres dormiam; o segundo foi que eu estava de camisola e descalça, o cabelo solto. Pensei que quisesse fazer-me mal e ia abrir a boca para gritar e acordar as mulheres quando o jovem sorriu para mim fazendo um gesto para que me calasse, pois nada pretendia. Então retirou-se para as sombras e, quando olhei, não havia ninguém.
Ela parou. Ninguém falava. Lembro-me de quando me contava histórias e eu era pequeno. O salão estava bem quieto, mas senti o homem junto a mim estremecer, como se preferisse afastar-se. A boca vermelha da Rainha pendia aberta de assombro e, pensei eu, de inveja.
Minha mãe olhava para a parede acima do Rei.
— Pensei que fora um sonho, ou fantasia de moça, produzida pelo luar. Voltei para a cama e não contei a ninguém. Mas ele voltou. Nem sempre à noite. Nem sempre quando eu estava só. Então percebi que não era sonho, mas um espírito familiar que desejava alguma coisa de mim. Rezava, mas ele continuava a aparecer. Enquanto me sentava com as damas a fiar, ou passeava nos dias secos pelo pomar do meu pai, sentia seu toque no meu braço, e sua voz no meu ouvido. Mas dessas vezes eu não o via e ninguém o ouvia, exceto eu.
Ela procurou a cruz sobre o peito e apertou-a. O gesto pareceu tão pouco forçado e natural que me surpreendi, até que percebi que era realmente natural: ela não segurava a cruz para pedir proteção, mas, sim, perdão. Pensei de mim para mim, não é ao deus cristão que ela devia temer quando mente — e sim o fato de estar mentindo desta maneira sobre as coisas do poder. Os olhos do Rei, fixos nela, eram penetrantes e ele estava, pensei, exultante. Os sacerdotes a observavam como se quisessem devorar sua alma viva.
— Assim, por todo o inverno, ele apareceu a mim. E vinha à noite. Eu nunca estava só no meu quarto, mas ele passava pelas portas, janelas e paredes e deitava-se comigo. Nunca mais voltei a vê-lo, mas ouvia sua voz e sentia seu corpo. Então, no verão, quando a gravidez já ia adiantada, ele me deixou. — Ela fez uma pausa.
— Poderão contar-lhe como meu pai me bateu e me fechou e como, quando a criança nasceu, não quis dar-lhe um nome digno de um príncipe cristão, mas porque nasceu em setembro, deu-lhe o nome do deus dos céus, o deus errante, que não tem outra casa a não ser o ar. Mas sempre o chamei de Merlin, porque no dia do seu nascimento um falcão selvagem entrou pela janela, pousando na minha cama e fitando-me com os olhos do meu amante.
Seu olhar cruzou com o meu, num relance. Isto então era verdade! E o Emrys, também, ela me dera apesar deles; guardara esse pouquinho do meu pai para mim, afinal.
Ela desviara os olhos.
— Creio, my lord, que o que lhe contei não o surpreenderá totalmente. Deve ter ouvido rumores de que meu filho não era como os meninos comuns — nem sempre é possível silenciar, e sei que se falou muito, mas agora contei-lhe a verdade francamente.
Portanto, peço-lhe, my lord Vortigern, que deixe meu filho e eu voltarmos em paz para as respectivas casas de religião.
Quando terminou, havia silêncio. Ela inclinou a cabeça e puxou o capuz novamente para encobrir-lhe o rosto. Observei o Rei e os homens atrás dele. Pensei que ia zangar-se, franzir o cenho de impaciência, mas para minha surpresa seu cenho desenrugou-se e ele sorriu. Abriu a boca para responder a minha mãe, mas a Rainha antecipou-se a ele. Curvou-se para a frente, passando a língua pelos lábios vermelhos, e falou pela primeira vez, com os sacerdotes.
— Maugan, isso é possível?
Foi o homem alto, o sumo-sacerdote de barba, que lhe respondeu. Falou sem hesitação, brando e surpreendentemente enfático:
— Senhora, é possível. Quem não ouviu falar dessas criaturas do ar e das trevas que se aproveitam dos homens e das mulheres mortais? Nos meus estudos e em muitos dos livros que tenho lido, encontrei casos de crianças que vieram ao mundo dessa forma. — Ele olhou para mim, alisando a barba, e então voltou-se para o Rei:
— Na verdade, my lord, temos a autoridade dos próprios antigos. Eles sabiam que certos espíritos que rondam o ar à noite, entre a Lua e a Terra, coabitam quando querem com as mulheres mortais, tomando a forma de homens. Certamente é possível que essa senhora real, essa virtuosa senhora real, tenha sido vítima de uma tal criatura. Sabemos, e ela própria afirma, que isto foi comentado por muitos anos. Eu mesmo conversei com uma das suas damas que me contou que a criança certamente não poderia ter sido gerada por mais ninguém, exceto o demônio, e que nenhum homem se acercara dela. E do próprio filho, quando era criança, ouvi muitas coisas estranhas. De fato, ó rei Vortigern, a história dessa senhora é verdadeira.
Já ninguém olhava para Niniane. Todos os olhares concentravam-se em mim. Eu não via no rosto do Rei nada que não fosse ao mesmo tempo feroz e inocente, uma espécie de satisfação ansiosa como a de uma criança ou de um animal selvagem que vê sua presa por perto. Perplexo, calei-me e aguardei. Se os sacerdotes acreditavam em minha mãe e Vortigern acreditava nos sacerdotes, então eu não conseguia perceber de onde viria o perigo. Nem a mais leve insinuação voltara o pensamento dos homens para Ambrosius. Maugan e o Rei pareciam acorrer com ansiedade e satisfação para a trilha que minha mãe lhes abrira.
O Rei olhou para os meus guardas. Tinham-se afastado de mim, sem dúvida, temerosos de estarem tão próximos de um filho do demônio. A um sinal seu, acercaram-se outra vez. O homem à minha direita ainda empunhava a espada, mas pendente do lado, fora das vistas de minha mãe. Não estava muito firme. O homem à minha esquerda retirou furtivamente a espada da bainha. Ambos ofegavam pesadamente e eu podia sentir-lhes o medo.
Os sacerdotes inclinavam a cabeça sabiamente e alguns deles, reparei, mantinham as mãos num gesto para afastar a feitiçaria. Parecia que acreditavam em Maugan, acreditavam em minha mãe, encaravam-me como um filho do diabo. A história dela apenas confirmara sua crença, os velhos rumores. Na verdade, fora essa a razão por que a tinham trazido ali. E agora observavam-me com satisfação, mas, também, um pouco preocupados.
O meu próprio medo ia desaparecendo. Pensei começar a ver o que queriam. A superstição de Vortigern era lendária. Lembrei-me do que Dinias contara a respeito da fortaleza que se desmoronava, e dos relatórios dos adivinhos do Rei de que estava enfeitiçada. Parecia provável que, devido aos comentários sobre o meu nascimento, e possivelmente devido aos poderes que eu demonstrara em garoto, antes de sair de casa, aos quais Maugan se referira, julgassem que eu poderia aconselhá-los ou ajudá-los. Se era assim, e haviam-me trazido até ali pelos meus decantados poderes, deveria haver alguma maneira de ajudar Ambrosius diretamente do interior do campo inimigo. Talvez, afinal, o deus me tivesse conduzido ali para isso, talvez ainda me estivesse orientando. Coloque-se no caminho dele... Bem, a pessoa só poderia utilizar-se do que se encontrava à mão. e eu não tinha o poder para usar, restava-me o conhecimento.
Voltei a mente para aquele dia no Forte do Rei e para a mina alagada no coração do penhasco ao qual o sonho me conduzira.
Certamente poderia dizer-lhes por que suas fundações não se sustinham. Era a resposta de um engenheiro, não a de um mago. Mas, refleti ao encontrar os olhos de ostra de Maugan, esfregando aquelas mãos compridas e sujas diante de si, se era uma resposta de mago o que desejavam, eles a teriam. E Vortigern com eles. Ergui a cabeça. Creio que estava sorrindo:
— Rei Vortigern!
Era como se tivesse deixado cair uma pedra num tanque, tão quieto estava o salão, tão concentrado em mim. Disse com firmeza:
— Minha mãe contou-lhe o que foi pedido. Sem dúvida, o senhor me dirá agora de que maneira posso servi-lo, mas antes devo pedir-lhe que cumpra sua promessa real e a deixe partir.
— Lady Niniane é nossa hóspede de honra. — A resposta do Rei parecia automática. Olhou para a arcada que abria para o rio, onde as lanças brancas da chuva cortavam o céu cinza-chumbo. — Ambos estão livres para partirem quando quiserem, mas não é hora para iniciarem a longa jornada de volta a Maridunum. Certamente quererão passar a noite aqui, Senhora, e esperar que amanheça seco? — Ergueu-se e a Rainha com ele. — Foram preparados quartos e a Rainha a levará para descansar e preparar-se para cear conosco. A nossa corte aqui e os nossos quartos são um pobre simulacro, mas tal como são, estão ao seu serviço. Amanhã será escoltada para casa.
Minha mãe erguera-se ao mesmo tempo que eles.
— E meu filho? Ainda não nos disse por que nos trouxe aqui.
— Seu filho pode servir-me. Tem poderes que posso utilizar. Agora, senhora, se quiser acompanhar a Rainha, conversarei com seu filho e direi o que quero dele. Acredite-me que ele é tão livre quanto a senhora. Só o coagi até que nos contou a verdade que eu desejava ouvir. Devo agradecer-lhe por confirmar o que já imaginava. — Estendeu a mão. — Juro, Lady Niniane, pelo deus que quiser, que não usarei o nascimento do seu filho contra ele, agora ou nunca.
Ela fitou-o por um momento, inclinou a cabeça e, ignorando seu gesto, caminhou para mim de mãos estendidas. Fui ao seu encontro e tomei-as nas minhas. Eu estava mais alto do que ela. Olhou para mim com a expressão de que eu me lembrava. Havia ansiedade e resíduos de medo e alguma mensagem transmitida com urgência no seu silêncio.
— Merlin, preferia que não tivesse sabido desse modo. Ter-lhe-ia poupado isso.
Mas não era o que seus olhos diziam.
Sorri para ela e respondi cauteloso: — Mãe, a senhora não disse nada que me chocasse. Na verdade, não há nada que pudesse contar-me do meu nascimento que eu próprio não soubesse. Fique descansada.
Ela prendeu a respiração e seus olhos arregalaram-se, perscrutando meu rosto. E continuei lentamente:
_ Qualquer que tenha sido a identidade do meu pai, ela não será usada contra mim. A senhora ouviu a promessa do Rei. É só o que precisamos saber.
Se ela compreendeu essa parte da mensagem eu não saberia dizer. Ainda se referia ao que eu dissera primeiro.
— Você sabia? Você sabia?
— Sabia. Certamente não imagina que, em todos os anos que estive longe e com a espécie de estudos que empreendi, nunca tivesse descoberto que pais tinha? Já faz alguns anos que meu pai se deu a conhecer a mim. Asseguro-lhe que falei com ele não uma, mas muitas vezes. Não encontro no meu nascimento nada que possa causar-me vergonha.
Por mais um momento ela continuou a fitar-me, então assentiu e as pálpebras baixaram-lhe os olhos. Um leve rubor subiu-lhe às faces. Ela me entendera.
Voltando-se, puxou o capuz para esconder o rosto e pousou a mão no braço do Rei. Saiu da sala entre ele e a Rainha e as duas damas a acompanharam. Os sacerdotes ficaram tagarelando, aos cochichos, e olhando. Não lhes prestei atenção e fiquei observando a partida de minha mãe.
O Rei parou à porta e ouvi-o despedir-se de minha mãe. Havia uma aglomeração à espera no pórtico externo. Abriram caminho para Rowena e minha mãe, e meia dúzia de mulheres que ali se encontravam acompanharam-nas. Ouvi o farfalhar de vestes e as vozes leves das mulheres desaparecendo em meio ao ruído da chuva. Vortigern ficou parado à porta, observando-as. Fora, a chuva caía com o estrépito de um rio correndo. Escurecia rápido.
O Rei girou nos calcanhares e voltou ao salão com os guerreiros a segui-lo.
Agruparam-se ao meu redor, falando ruidosamente, mas mantendo-se afastados num círculo, como cães antes de avançarem para matar. A morte estava de volta no salão. Eu a sentia mas não conseguia acreditar ou compreender. Fiz um movimento como se quisesse seguir minha mãe e as espadas dos guardas ergueram-se, estremecendo. Fiquei quieto.
Perguntei ao Rei, com aspereza:
— O que é isso? Deu a sua palavra. Será tão rápido em renegá-la?
— Não renegá-la. Dei minha palavra de que não iria servir-me, de que nunca usaria seu nascimento contra você. Isto é verdade. É por causa do que sei, e porque não é filho de nenhum homem, que o mandei trazer aqui hoje. Você irá servir-me, Merlin, por causa do seu nascimento.
— Sim?
Ele subiu os degraus que levavam ao trono e sentou-se outra vez. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Todos os homens da corte haviam entrado com ele e também os archoteiros. O salão enchera-se de luz fumacenta, do rangido de couro e do retinir de cotas de malha. Fora, a chuva caía em torrentes.
Vortigern curvou-se para a frente, o queixo descansando no punho.
— Merlin, soubemos hoje o que em parte já suspeitávamos, que você não é filho de nenhum homem, mas do diabo. Como tal, não merece piedade de homem algum. Mas, porque sua mãe é filha de um rei, e portanto alguma coisa lhe é devida, direi por que você foi trazido aqui. Talvez saiba que estou construindo uma cidadela aqui, na pedra a que chamam de Fortaleza?
— Todos sabem — disse eu — e sabem também que não permanece de pé, mas cai toda vez que atinge a altura de um homem.
Ele assentiu.
— E meus magos e sábios aqui, meus conselheiros, disseram-me razão. As fundações não foram lançadas conforme deviam.
— Bem, — comentei, — isso parece-me notavelmente sensato.
Havia um homem alto e idoso à direita do Rei, junto aos sacerdotes Seus olhos azuis faiscavam de raiva sob as sobrancelhas ancas. Observava-me fixamente e pensei ter percebido uma certa pena no seu olhar. Quando falei, ele levou a mão à barba como se quisesse esconder um sorriso.
O Rei parecia não me ter ouvido.
— Dizem-me — continuou — que o forte de um rei deve ser construído sobre sangue.
— Falam naturalmente por metáfora? — perguntei com polidez. Maugan subitamente bateu com o bastão no chão do estrado.
— Falam literalmente! — gritou. — A argamassa deverá ser misturada com sangue! E o sangue deverá ser espalhado nas fundações. Nos tempos antigos, nenhum rei construía uma fortaleza sem observar esse ritual. O sangue de um homem forte, de um guerreiro, mantinha as paredes de pé.
Houve uma pausa repentina. Meu coração começou a bater, lento, em pancadas fortes que faziam o sangue formigar-me nas pernas. Retorqui friamente:
— E o que tem isso a ver comigo? Não sou guerreiro.
— Nem é homem tampouco — disse o Rei, áspero. — Essa é a mágica, Merlin, que eles me revelaram: eu deveria procurar um rapaz que nunca tivesse tido um pai, e regar as fundações com o seu sangue.
Encarei-o e a seguir ao círculo de rostos ao meu redor. Havia mal-estar e sussurros e poucos olhos encararam os meus, mas em todos os rostos havia a morte, cujo cheiro eu sentira ao entrar no salão. Voltei-me para o Rei.
— Que tolice é essa? Quando parti, Gales era um país de gente civilizada, de poetas, artistas e sábios, de guerreiros e reis que matavam pelo seu país, limpamente, à luz do dia. Agora fala-se de sangue e sacrifício humano. Será que pensam mergulhar a moderna Gales de volta nos ritos da antiga Babilônia e de Creta?
— Não estou falando de "sacrifício humano" — disse Vortigern. Você não é filho de nenhum homem, lembre-se disso.
Silenciosa, a chuva fustigava as poças do lado de fora, fazendo-as borbulhar. Alguém pigarreou. Captei o olhar azul penetrante do velho guerreiro. Eu tinha razão: havia piedade nele. Mas mesmo os que se apiedavam de mim não iriam erguer a mão contra aquela estupidez.
Tudo se esclarecera finalmente, como um relâmpago iluminando o céu. Aquilo nada tinha a ver com Ambrosius ou com minha mãe. Ela estava a salvo, tendo apenas confirmado o que desejavam. Sentir-se-ia até honrada por fornecer o que queriam. E Ambrosius nunca entrara em seus pensamentos. Eu não estava ali como seu filho, seu espião, seu mensageiro: eles só queriam o filho do diabo para matar com sua mágica crua e suja.
E, bastante ironicamente, o que haviam conseguido não era um filho do diabo, nem mesmo o menino que certa vez pensara ter o poder nas mãos. Mas, apenas, um jovem humano, sem nenhum poder além da sua mente humana. Mas, pelo deus, pensei, essa talvez pudesse bastar-me... Eu aprendera o suficiente, com poder ou sem ele, para combatê-los com suas próprias armas.
Consegui sorrir, olhando para os outros sacerdotes atrás de Maugan. Ainda faziam o sinal contra mim e mesmo Maugan segurava seu bastão contra o peito como se aquilo tivesse o poder de protegê-lo.
— E que o faz tão seguro de que meu pai, o demônio, não virá em meu auxílio?
— São apenas palavras, ó Rei. Não há tempo para ouvi-las.— Maugan falou alto e rapidamente e os outros sacerdotes precipitaram-se para a frente juntamente com ele, cercando a cadeira do Rei. Falavam todos ao mesmo tempo. — Sim, mate-o agora. Não há tempo a perder. Leve-o para o penhasco e mate-o agora. Verá que os deuses serão apaziguados e as muralhas se manterão firmes. A mãe dele não saberá e, mesmo que o saiba, que poderá fazer?
Havia um movimento geral, como o de cães ao aproximarem-se da presa. Tentei pensar, mas encontrava-me vazio até de pensamentos coerentes. O ar cheirava mal, e já estava ficando escuro. Eu já podia sentir o cheiro de sangue, e as lâminas das espadas, empunhadas agora abertamente contra mim, faiscavam à luz dos archotes. Fixei os olhos no mortífero metal e tentei esvaziar a mente, mas tudo o que conseguia era ver o esqueleto limpo de Galapas, ao sol, no topo da montanha, as asas dos pássaros a passarem sobre ele...
Dirigi-me às espadas:
— Digam-me uma coisa: quem matou Galapas?
— Que disse ele? Que disse o filho do demônio? — A pergunta corria pelo salão. Uma voz rouca exclamou alto: — Deixe-o falar.
— Era o velho guerreiro de barbas grisalhas.
— Quem matou Galapas, o mago que vivia em Bryn Myrddin, no alto de Maridunum?
Era quase um grito. Minha voz soava estranhamente até para. Eles calaram-se, entreolhando-se de esguelha, sem compreender. Vortigern disse:
— o velho? Disseram que era um espião.
— Era um mago, e meu mestre — disse eu. — E ensinou-me, Vortigern.
— E o que lhe ensinou?
Sorri.
— O suficiente. O suficiente para saber que esses homens são tolos e charlatães. Muito bem, Vortigern. Leve-me ao penhasco e tragam suas facas, você e seus adivinhos. Mostrem-me a fortaleza, essas paredes rachadas, e vejam se não posso dizer-lhe, melhor do que eles, por que o seu forte não se mantém em pé. "Filho de nenhum homem"! — disse com desprezo. — Essas são as coisas que inventam, esses velhos imbecis quando não conseguem pensar em nada mais. Não lhe ocorre, ó Rei, que o filho de um espírito das trevas pode ter uma mágica que supere os encantamentos desses velhos tolos? Se o que dizem é verdade, e se o meu sangue fizer com que as pedras se mantenham, então por que ficaram a observá-las cair não uma, nem duas vezes, mas quatro, antes de poderem sugerir o que fazer? Deixe-me ver o lugar apenas uma vez e lhe direi. Pelo Deus dos deuses, Vortigern, se o meu sangue morto tem o poder de manter sua fortaleza de pé, quanto mais não poderia o meu corpo vivo servir-lhe?
— Bruxaria! Bruxaria! Não lhe dêem ouvidos! Que sabe um rapaz de tais assuntos? — Maugan começou a gritar e os sacerdotes a tagarelarem. Mas o velho guerreiro voltou a falar, rouco e brusco:
— Deixai-o tentar. Não há mal nisso. Vós precisais de ajuda, Vortigern, quer seja de Deus ou do Diabo. Deixai-o tentar, digo-vos.
E de todo o salão como um eco ouviram-se os guerreiros que não tinham razão para gostar dos sacerdotes:
— Deixai-o tentar.
Vortigern franziu o cenho, indeciso, olhando de Maugan para os guerreiros e a seguir para os arcos cinzentos onde caía a chuva.
— Agora?
— É melhor agora — disseram. — Não há muito tempo.
— Não — falei claramente. — Não há muito tempo. — Silêncio outra vez, os olhares sobre mim. — A chuva está pesada, Vortigern. Que espécie de rei é você cuja fortaleza é derrubada por uma pancada de chuva? Encontrará as paredes mais uma vez tombadas. Isto resulta de construir no escuro, com cegos por conselheiros. Ora, leve-me ao alto do seu penhasco e eu lhe direi por que suas paredes caem. E, se ouvir a mim ao invés desses sacerdotes das trevas, dir-lhe-ei como reconstruir seu forte na luz.
Enquanto eu falava, como se uma torneira fosse fechada, a chuva parou. No silêncio repentino, as bocas dos homens abriram-se Até Maugan emudeceu. Então, como se se afastasse uma cortina escura, o sol surgiu.
Ri.
— Vê? Venha, ó Rei, leve-me ao alto do penhasco e lhe mostrarei à luz do sol por que caem suas paredes. Mas mande que levem archotes. Precisaremos deles.
Ainda não chegáramos ao pé dos penhascos e já se confirmava a razão que eu tinha. Os trabalhadores encontravam-se aglomerados à beira do penhasco acima, à espera do Rei, e alguns deles desciam ao seu encontro. O capataz chegou ofegante, um homem corpulento com um tecido grosseiro preso em torno dos ombros como um manto, todo encharcado. Mal parecia ter-se apercebido de que a chuva passara. Estava pálido, os olhos vermelhos como se não dormisse há noites. Parou a três passos de distância olhando para o Rei, nervoso, e passando as costas da mão, molhadas, pelo rosto.
— Novamente? — perguntou Vortigern, sumário.
— Sim, my lord, e não há quem possa dizer que seja nossa culpa, isto eu juro, e isto tanto quanto da última vez ou das anteriores. O senhor viu ontem como trabalhamos desta vez. Viu como limpamos toda a área para recomeçar, e chegamos à rocha sólida. E é rocha sólida, my lord, juro. Mas, ainda assim, a parede racha. — Passou a língua pelos lábios e seu olhar encontrou o meu, desviando-se, o que indicou que estava ciente do que planejavam o Rei e seus adivinhos. — Vai subir agora, my lord?
— Sim. Tire os homens da área.
O homem engoliu em seco, voltou-se e correu pela trilha serpeante. Ouvi-o gritar. Trouxeram uma mula e o Rei montou-a. Meu pulso foi amarrado grosseiramente aos arreios. Mago ou não, a vítima do sacrifício não teria oportunidade de escapar enquanto não pudesse provar a sua razão. Os guardas mantinham-se ao meu lado. Os oficiais e cortesãos do Rei rodeavam-nos falando em voz baixa entre si, mas os sacerdotes retardaram-se, arredios e desconfiados. Percebi que pouco receavam o resultado. Sabiam tanto quanto eu que a mágica era um poder dos deuses e que a ilusão trabalhava em favor da fé. Estavam confiantes de que eu não poderia fazer mais do que eles — e, mesmo se eu fosse um deles, poderiam encontrar meios de derrotar-me. Tudo o que eu tinha para contrapor aos seus ritos suaves, pensavam eles, era o tipo de blefe a que estavam acostumados, e a sorte que fizera cessar a chuva e surgir o sol enquanto eu falava.
O sol refletia-se na relva molhada da crista do penhasco. Ali nos encontrávamos, bem acima do vale onde o rio coleava como uma cobra cintilante entre os campos verdes. O vapor subia dos telhados do acampamento do Rei. Em torno do salão de madeira € dos prédios, aglomeravam-se as pequenas tendas de pele como cogumelos e os homens não eram maiores que piolhos caminhando entre elas. Era um lugar magnífico, um verdadeiro ninho de águia. O Rei parou a mula no agrupamento de carvalhos açoitados pelo vento e apontou para diante, para os galhos despidos.
— Ontem, podia-se ver a parede ocidental daqui.
Para além do arvoredo havia uma crista estreita, um caminho elevado, ao longo do qual os trabalhadores e as mulas haviam batido uma trilha larga. O Forte do Rei era uma torre de pedra, atingida por um lado pelo caminho elevado; os outros três lados caíam íngremes em encostas estonteantes e escarpadas. O topo era formado por um platô de talvez cem passos por cem, e antes deveria ter sido coberto de grama rústica com pedras salientes e algumas árvores e arbustos raquíticos. Agora era um alagadiço de lama revolvida em torno dos destroços da torre enfeitiçada. Em três lados as paredes erguiam-se quase à altura dos ombros; no quarto a parede desmoronada cedera num caos de pedras, algumas caídas e meio enterradas na lama, outras ainda precariamente presas às saliências da rocha viva. Aqui e ali tinham sido enterrados mourões pesados de pinho e uma lona fora esticada sobre eles para proteger as obras da chuva. Alguns encontravam-se caídos, outros obviamente lascados pelo colapso recente. Dos que ainda se conservavam inteiros a lona pendia balouçante ou distendera-se, rasgando, com a umidade. Tudo estava empapado e havia poças por toda parte.
Os trabalhadores tinham deixado o local e amontoavam-se para um lado do platô perto do caminho elevado. Estavam silenciosos, o medo estampado nos rostos. Via-se que não era medo da fúria do Rei pelo que acontecera à obra, mas da força em que acreditavam e que não conseguiam compreender. Havia guardas à entrada do caminho. Sem eles não teria ficado um só trabalhador no local.
Os guardas traziam as lanças cruzadas, mas recolheram-nas ao reconhecerem o Rei. Ergui os olhos.
— Vortigern, não posso escapar daqui a não ser que eu me atire pelo penhasco, e isso salpicaria o meu sangue exatamente onde Maugan quer. Tampouco posso ver o que há de errado com as suas fundações a não ser que me solte.
Ele acenou com a cabeça e um dos guardas me desamarrou, em frente. A mula acompanhou-me com cuidado pela lama espessa Os outros também. Maugan adiantara-se e falava ansioso com o Rei. Percebi algumas palavras aqui e ali: Impostura... fuga... sangue... agora ou nunca...
O Rei parou e com ele o resto. Alguém falou "Aqui, menino". Olhei ao redor e vi o homem de barba grisalha estendendo o bastão. Sacudi a cabeça, então dei-lhes as costas e prossegui sozinho.
Havia água por toda a parte, faiscando nas poças lamacentas entre os tufos ou nas folhas enroladas das samambaias novas que se destacavam na relva pálida de inverno. A rocha cinzenta refulgia.
Ao caminhar lentamente, eu precisava apertar os olhos, protegendo-os do ofuscamento, para conseguir enxergar.
Fora a parede.ocidental que caíra. Tinha sido construída muito perto da beirada do penhasco, e embora a maior parte do desmoronamento fosse interno, havia um monte de entulho caído sobre a borda da rocha onde um novo deslizamento se abria vermelho e pegajoso com o barro. Havia um espaço na parede norte, onde deveria ser construída uma entrada. Caminhei com cautela entre os montes de entulho e as ferramentas dos trabalhadores para o centro da torre.
Ali o chão era uma grossa mistura de lama revolvida com poças transformadas em cobre ofuscante pelo sol. Este desaparecia agora no último clarão de luz antes do crepúsculo e atingia-me em cheio nos olhos enquanto eu examinava a parede caída, as rachaduras, o ângulo de queda, a posição dos afloramentos indicadores.
Todo o tempo eu estava consciente da agitação e do murmúrio da multidão. De tempos em tempos o sol faiscava nas armas desembainhadas. A voz de Maugan, alta e rouca, martelava o silêncio do Rei. Logo, se eu nada fizesse e nada dissesse, aquela gente dar-lhe-ia ouvidos.
De onde estava montado na mula o Rei podia ver-me pela abertura da entrada norte, mas a maioria das pessoas, não. Subi — ou melhor, ascendi, tal era a minha dignidade — aos blocos caídos da parede oeste até emergir totalmente da construção restante para que todos pudessem ver-me. Isto não era apenas para impressionar o Rei. Precisava examinar dessa posição vantajosa as encostas arborizadas pelas quais acabáramos de subir, tentando, agora que estava longe da gente e do atropelo, reconhecer o caminho que me levara ao acesso da mina anos atrás.
Vozes impacientes chegavam a mim e lentamente ergui os braços para o sol numa espécie de gesto ritual, como vira fazerem os sacerdotes ao invocarem os espíritos. Ao menos, se eu fizesse uma exibição de mágica, mantê-los-ia à distância, os sacerdotes em dúvida e o Rei expectante, até que eu tivesse tido tempo de lembrar-me. Não poderia lançar-me titubeante pela floresta como um cão de caça. Precisava levá-los direta e rapidamente como o falcão que me guiara.
E minha sorte perdurou. Ao erguer os braços, o sol desapareceu e permaneceu oculto, deixando as sombras adensarem-se.
E mais, cessando o ofuscamento, eu conseguia ver. Voltei a vista para o lado do caminho elevado por onde subira há tantos anos, fugindo da multidão em torno dos dois reis. As encostas estavam densamente arborizadas, mais do que dantes. Já na escavação da montanha surgiam algumas folhas novas e a floresta estava coberta de espinheiros e azevinho. Não conseguia reconhecer o caminho que tomara pela floresta de inverno. Perscrutei as sombras do crepúsculo, tentando reavivar a lembrança do menino que correra por ali...
Tínhamos cavalgado pelo vale aberto ao longo do rio sob as árvores copadas, seguindo pela crista baixa e entrado na escavação da encosta. Os reis, com Camlach, Dinias e o resto, haviam-se sentado na encosta sul sob o grupo de carvalhos. As fogueiras estavam ali e os cavalos lá. Era meio-dia e ao me afastar — para o outro lado — caminhara sobre minha própria sombra. Sentara-me para comer ao abrigo da rocha...
Sabia agora. Uma rocha cinzenta junto a um carvalho novo. E do outro lado da rocha tinham passado os reis, caminhando em direção ao Forte. Uma rocha cinzenta junto a um carvalho novo ao lado da trilha. E, saindo em linha pela floresta íngreme, o caminho que percorrera o falcão.
Abaixei os braços e voltei-me. O crepúsculo caía rápido no rastro das nuvens cinzentas. Em baixo, as encostas arborizadas nadavam em sombras. Atrás de Vortigern, a massa de nuvens orlava-se de um amarelo vivo e um único facho de luz enevoada caía verticalmente sobre as montanhas distantes e negras. Os homens eram silhuetas escuras com suas capas a esvoaçarem na brisa úmida. Os archotes pingavam.
Lentamente desci do meu miradouro. Quando cheguei ao centro da torre, parei bem à vista do Rei e estendi as mãos para diante, as palmas voltadas para baixo como se sentisse como um adivinho o que jazia sob a terra. Percebi um murmúrio correr e um muchocho áspero de desdém de Maugan. Então deixei cair as mãos e aproximei-me deles.
— Então? — A voz do Rei era dura e seca, desafiando-me. Remexia-se na sela.
Ignorei-o, passei pela mula e rumei direto para a parte mais densa da aglomeração como se ela não existisse. Mantinha as mãos dos lados e os olhos no chão. Vi pés hesitarem, arrastarem-se e afastarem-se enquanto a multidão se dividia para me deixar passar. Prossegui atravessando o caminho elevado, tentando mover-me suavemente, com dignidade, pelo chão rachado e empapado. Os guardas não fizeram nenhuma tentativa de parar-me. Quando passei por um dos archoteiros, ergui a mão e ele postou-se ao meu lado sem dizer palavra.
A trilha que os trabalhadores e as mulas haviam aberto na encosta era nova, mas, conforme eu esperara, seguia a velha trilha de veados que os reis haviam tomado. Na metade do caminho, fora de dúvidas, encontrei a rocha. Samambaias novas surgiam pela fenda entre as raízes do carvalho e a árvore já apresentava novos brotos entre as cecídias do ano anterior. Sem um momento de hesitação, saí da trilha, entrando pelo íngreme emaranhado da floresta.
Estava muito mais fechado do que eu imaginara, e certamente ninguém estivera por ali há muito tempo, provavelmente desde que Cerdic e eu havíamos passado. Mas lembrava-me do caminho tão claramente como se ainda fosse o meio-dia daquele dia de inverno. Caminhava depressa e mesmo onde as moitas chegavam-me pelos ombros eu procurava passar com suavidade e indiferença, atravessando-as como se fossem um mar. No dia seguinte, paguei pela minha dignidade de mago com cortes, arranhões e roupas arruinadas, mas não tenho dúvidas de que naquele momento estive impressionante. Lembro-me de que, quando minha capa se prendeu em alguma coisa, o archoteiro pulou para a frente como um escravo para desembaraçá-la para mim.
Ali estava a moita que crescia pelo lado do pequeno vale. Mais pedras haviam caído pela encosta abaixo, amontoando-se entre os caules dos espinheiros como espuma entre juncos nas águas paradas. Sobre elas fechavam-se os arbustos, sabugueiros desfolhados como madressilvas com trancas de cabelo, amoreiras silvestres espinhosas e flexíveis, e hera que brilhava à luz do archote. Parei.
A mula escorregou e bateu os cascos, parando junto ao meu ombro. A voz do Rei soou:
— O que é isso? O que é isso? Aonde nos leva? Digo-lhe, Merlin, seu tempo está-se esgotando. Se nada tem a mostrar-nos...
— Tenho muito a mostrar-lhes — ergui a voz para que todos que se acotovelavam atrás dele pudessem ouvir-me. — Vou mostrar-lhe, rei Vortigern, ou a qualquer homem que tenha bastante coragem para seguir-me, o animal mágico que jaz sob a sua fortaleza, devorando-lhes as fundações. Dê-me o archote.
O homem entregou-me. Sem mesmo voltar a cabeça para ver quem me seguia, mergulhei na escuridão da moita e afastei os galhos da entrada da mina.
Ainda estava aberta, solidamente escorada e quadrada, o poço seco levando diretamente ao coração da montanha.
Precisei agora abaixar a cabeça para passar pelas vergas. Curvei-me e entrei com o archote à minha frente.
Lembrava-me da abóbada da mina como sendo enorme e estava preparado para descobrir que essa, como as outras recordações de criança, era falsa. Era ainda maior do que eu me lembrava. A escuridão vazia duplicava-se no grande espelho de água que se espalhara até cobrir todo o solo, exceto uma meia-lua seca de rocha a uns dois metros de profundidade, logo na entrada da mina. Nesse lago imenso e parado, o grande arco das paredes da caverna projetava-se como um contraforte ao encontro do próprio reflexo e prosseguia para baixo, desaparecendo na escuridão. Algures, nas profundezas da montanha, ouvia-se o cascatear de água, mas aqui nada perturbava a superfície polida. Onde antes filetes escorriam e pingavam como torneiras defeituosas, agora havia em todas as paredes um véu fino e brilhante de umidade que escorria despercebido para engrossar a lagoa.
Dirigi-me à beira segurando o archote no alto. A pequena chama de luz afastou a escuridão, uma escuridão palpável, mais escura que as noites escuras em que o negrume é denso como o pêlo de um animal selvagem e nos comprime como uma manta. Um milhão de facetas luminosas brilharam e faiscaram quando as chamas se refletiram na água que escorria. O ar estava parado e frio, ecoando sons que pareciam o canto dos pássaros no fundo de um bosque.
Ouvi as pessoas atropelando-se na entrada da mina atrás de mim. Pensei rapidamente.
Podia dizer-lhes a verdade friamente. Podia apanhar o archote, subir pelas escoras enegrecidas e apontar os pontos falhos que cediam sob o peso da construção acima. Mas duvidava de que me ouvissem. Além disso, conforme viviam a dizer, não havia tempo. O inimigo estava às portas e o que Vortigern precisava agora não era de lógica e de engenharia; queria mágica e alguma coisa — qualquer coisa — que lhe prometesse uma segurança rápida e mantivesse seus seguidores leais. Ele próprio poderia acreditar na voz da razão, mas não podia dar-se ao luxo de escutá-la. Meu palpite era que me mataria primeiro e tentaria escorar a obra depois, provavelmente comigo dentro. De outra forma, perderia seus trabalhadores.
Os homens entravam pela boca negra da mina como abelhas por uma porta de colméia. Mais archotes brilharam e a escuridão recuava. O chão encheu-se de capas coloridas, do brilho das armas e da cintilação das jóias. Os olhos pareciam transparentes ao correrem ao redor, cheios de admiração. A respiração condensava-se em contato com o ar frio. Havia uma agitação e um sussurrar como o de pessoas num lugar sagrado, ninguém falava alto.
Ergui a mão para chamar o Rei e ele acercou-se da beira da lagoa. Apontei. Abaixo da superfície alguma coisa, talvez uma pedra, brilhava debilmente, tomando a forma de um dragão. Comecei a falar lentamente, como se experimentasse o ar entre nós. Minhas palavras saíram claras e pesadas como gotas de água batendo numa rocha.
— Essa é a mágica, rei Vortigern, que jaz sob a torre. É por isso que suas paredes racham mais depressa do que eles conseguem construí-las. Qual dos seus adivinhos lhe poderia mostrar o que mostro agora?
Dois archoteiros acercaram-se com ele; os outros permaneciam atrás. A luz aumentou, tremulando nas paredes enquanto se aproximavam. Os fios de água refletiam a luz e desciam para encontrar o próprio reflexo, de modo que o fogo parecia erguer-se do lago como bolhas num vinho espumante, vindo espocar na superfície. Por toda parte ao moverem-se os archotes, a água refulgia e faiscava, jatos e clarões de luz entrecortando-se, saltando e serpeando pela superfície imóvel até que a lagoa se transformou em fogo líquido e pelas paredes a água cascateava e cintilava como cristal. Parecia a gruta de cristal ganhando vida, movendo-se e girando à minha volta — como o globo estrelado, à meia-noite, rodopiando e piscando.
Inalei penosamente e falei outra vez:
— Se conseguisse drenar esse lago, rei Vortigern, e descobrir o que está embaixo...
Parei. A luz mudara. Ninguém se mexia e o ar estava parado, mas a luz dos archotes agitava-se com o tremor das mãos dos homens. Eu já não conseguia ver o Rei. As chamas interpunham-se entre nós. As sombras corriam pelas torrentes e escadas de fogo e a gruta enchera-se de olhos e asas e cascos a martelarem na investida do grande dragão curvando-se sobre a presa...
Uma voz gritava, alta e monótona, ofegando. Eu não conseguia recuperar o fôlego. A dor explodiu em mim, espalhando-se da virilha ao estômago, como o sangue a esguichar de um ferimento. Não via nada. Senti as mãos contorcerem-se e distenderem-se. Minha cabeça doía, e a rocha era dura e encharcada sob o meu rosto. Eu desmaiara e eles haviam-me agarrado. Encontrava-me deitado, matavam-me, esse era o meu sangue que vertia para lançar-se ao lago e escorar as fundações da sua torre podre. Eu engasgava com o ar como se fosse bile. Minhas mãos dilaceravam-se de dor de encontro à rocha e meus olhos estavam abertos, mas tudo que conseguia ver era o rodopio dos estandartes e asas e olhos de lobo e bocas doentes escancaradas e a cauda de um cometa como um tição, e estrelas que surgiam em meio a uma chuva de sangue.
A dor percorreu-me outra vez, uma faca em brasa nos intestinos. Gritei e de repente minhas mãos se soltaram. Ergui-as entre mim e as visões faiscantes e ouvi minha própria voz falando, mas não saberia dizer o quê. À minha frente as visões redemoinhavam, entrecortavam-se, abriam-se em clarões intoleráveis de luz e então desapareciam novamente na escuridão e no silêncio.
Acordei num quarto esplendidamente revestido de cortinas bordadas, onde a luz do sol se derramava pela janela para formar quadrados luminosos no chão assoalhado.
Mexi-me com cautela, experimentando as pernas. Não me ferira. E não havia vestígios da dor de cabeça. Estava nu, aconchegado em peles quentes e macias e minhas pernas moviam-se sem indícios de entorpecimento. Pisquei deslumbrado para a janela, então voltei a cabeça e vi Cadal de pé junto à cama, o alívio a espalhar-se-lhe no rosto como a luz depois da nuvem.
— E já era tempo! — exclamou.
— Cadal! Por Mithras, como é bom vê-lo! Que aconteceu? Onde estou?
— No melhor quarto de hóspedes de Vortigern é onde está. Você deu um jeito nele, jovem Merlin, deu-lhe um jeito para valer.
— Dei? Não me lembro. Tive a impressão de que estavam dando um jeito em mim. Quer dizer que já não estão planejando matar-me?
— Matá-lo? Metê-lo numa gruta sagrada será mais provável, e sacrificar virgens a você. Pena que seja um desperdício. Eu próprio poderia usar algumas.
— Deixarei todas para você. Oh, Cadal, mas como é bom vê-lo! Corno chegou aqui?
— Eu acabara de voltar para o portão do convento, quando eles vieram buscar sua mãe. Ouvi-os perguntarem por ela e dizerem que já o tinham apanhado e que iam levar os dois para Vortigern ao raiar do dia. Perdi metade da noite procurando Marric e a outra metade tentando arranjar um cavalo decente — e poderia ter-me poupado esse trabalho, pois acabei tendo que me contentar com aquele matungo que você comprou. Mesmo ao passo que iam, eu estava quase um dia atrasado na altura em que chegaram a Pennal. Não que eu quisesse alcança-los até ver como estavam as coisas...
Bem, não importa, afinal cheguei aqui na tarde de ontem e descobri que o lugar zumbia como uma colméia que tivesse sido pisada.
— Soltou uma gargalhada curta. — Era Merlin isto; e Merlin aquilo... já o chamavam de profeta do Rei! Quando disse que era seu criado, não conseguiram empurrar-me para aqui o bastante rápido. Parece que não há exatamente uma corrida para cuidar de feiticeiros da sua classe. Pode comer alguma coisa?
— Não... sim. Sim, posso. Estou faminto. — Recostei-me nos travesseiros. — Espere um instante, você diz que chegou aqui ontem? Quanto tempo dormi?
— A noite e o dia de hoje. O sol já se está quase pondo.
— Uma noite e um dia? Então é... Cadal, o que aconteceu como minha mãe? Você sabe?
— Já partiu em segurança para casa. Não se preocupe com ela. Coma agora enquanto lhe conto. Aqui.
Ele trouxe uma bandeja na qual havia uma tigela de caldo fumegante e um prato de carne com pão, queijo e damascos. Não consegui tocar na carne, mas comi todo o resto enquanto conversávamos.
— Ela nada sabe do que tentaram fazer ou do que aconteceu. Quando perguntou por você a noite passada, disseram-lhe que estava aqui realmente instalado e nas graças do Rei. Disseram-lhe que cuspira nos olhos dos sacerdotes, por assim dizer, profetizara com a classe de um Salomão, e estava dormindo confortavelmente. Ela veio vê-lo esta manhã para certificar-se, e constatou que você dormia como uma criança. Então partiu. Não tive oportunidade de falar com ela, mas vi-a partir. Foi escoltada como uma rainha, posso dizer-lhe, levava meia tropa de cavalos, e as mulheres viajavam em liteiras quase tão luxuosas quanto a dela.
— Você diz que eu profetizei? Cuspi nos olhos dos sacerdotes?
— Pus as mãos na cabeça. — Gostaria de poder lembrar-me... Estávamos na caverna sob o Forte do Rei, contaram-lhe isso, suponho?
— Olhei para ele. — Que aconteceu, Cadal?
— Quer-me dizer que não se lembra? Sacudi a cabeça.
— Só sei que iam matar-me para impedir que aquela torre podre desmoronasse e tentei um blefe. Pensei que poderia desacreditar os sacerdotes e salvar a pele, mas eu só esperava ganhar tempo para poder talvez escapar.
— É, ouvi falar do que iam fazer. Algumas pessoas são tão ignorantes que é de se admirar. — Mas ele me observava com aquele olhar já conhecido. — Foi um tipo estranho de blefe, não foi? Como sabia onde encontrar o túnel?
— Oh, isso! Foi fácil. Estive por aqueles lados antes, quando criança. Fui àquele mesmo lugar uma vez, há anos atrás, com Cerdic, que era meu criado então, e eu seguia um falcão pela floresta quando encontrei o velho túnel.
— Sei. Algumas pessoas podem chamar isso de sorte — se não conhecerem, isto é. Suponho que tenha entrado?
— Sim. Quando ouvi falar pela primeira vez sobre o desmoronamento da parede ocidental, pensei que devia ter alguma relação com a escavação da mina. Contei-lhe então, rapidamente, tudo o que consegui lembrar-me dos acontecimentos da gruta. As luzes — disse eu — a água brilhando... os gritos... Não foram como as visões que tive antes, o touro branco e as outras que vejo às vezes.
Aquilo foi diferente. Deve assemelhar-lhe à morte. Creio que no final desmaiei. Não me lembro de ter sido trazido para cá.
— Nada sei sobre isso. Quando consegui vê-lo, você tinha acabado de adormecer, muito profundamente, mas normal, pareceu-me. Eu não faço cerimônia, dei uma boa olhada em você, para ver se o tinham machucado, mas não encontrei sinal, exceto uma porção de arranhões e esfoladuras que me disseram que você arranjou na floresta. Suas roupas pareciam confirmar, posso dizer-lhe... Mas, da maneira como estava instalado aqui, e da maneira como falavam, não acho que teriam ousado levantar um dedo contra você, não agora. O que quer que tenha sido, um desmaio, um ataque, ou um transe mais provavelmente, você assustou-os para valer, de verdade.
— Sim, mas como, exatamente? Não lhe contaram?
— Oh, sim, contaram-me, aqueles com quem falei. Berric, aquele que lhe deu o archote, me contou. Contou que estavam todos preparados para cortar sua garganta, aqueles velhos sacerdotes imundos, e parece que, se o Rei já não soubesse mais o que fazer e não estivesse impressionado com sua mãe e com a maneira como vocês dois não pareciam amedrontados, ele nunca teria esperado. Oh, ouvi toda a história, não se preocupe. Berric disse que não teria dado dois tostões furados pela sua vida lá no salão, quando sua mãe contou o caso. — Ele me lançou um olhar. — Toda aquela conversa sobre o diabo no escuro! Dizer isso na sua frente! O que foi que deu nela?
— Ela pensou que isso ajudaria. Suponho que tenha imaginado que o Rei descobrira quem era meu pai e nos tivesse arrastado até lá a para ver se conhecíamos os seus planos. Foi o que eu próprio pensei. — Falei, pensativo. — E havia mais alguma coisa... Quando o lugar está cheio de superstição e de medo chega-se a sentir. Eu, exemplo, sentia arrepios por todo o corpo. Ela deve ter sentido também. Poder-se-ia dizer que seguiu a mesma linha de raciocínio eu, tentando enfrentar mágica com mágica. Então contou aquela velha lenda de que fui gerado por um espírito, com alguns floreios para torná-la mais plausível. — Sorri para ele. — E desincumbiu-se bem. Até eu teria acreditado, se não soubesse a verdade. Mas não importa, continue. Quero saber o que aconteceu na caverna. Você quer dizer que fui coerente?
— Bem, agora, eu não disse exatamente isso. Não consegui entender direito o que Berric me contou. Ele jurou que estava repetindo quase palavra por palavra... parece que tem ambição de tornar-se cantor ou outra coisa qualquer.... Bem, o que ele disse foi que você ficou parado ali, olhando para a água a escorrer das paredes e, então, começou a falar, normalmente a princípio, com o Rei, como se estivesse explicando como o poço fora cavado na montanha e os veios minados, mas então o velho sacerdote — Maugan, não é? — começou a gritar "Isto é conversa de tolos" ou alguma coisa assim, quando de repente você soltou um berro que quase congelou os testículos deles — expressão de Berric, não minha, ele não está acostumado ao serviço de cavalheiros — e seus olhos reviraram-se e você estendeu os braços para cima como se estivesse tentando desengastar estrelas — Berric outra vez, ele devia ser poeta — e começou a profetizar.
— Sim?
— Foi o que todos disseram. Você falava em águias, lobos, leões e javalis e em tantos outros animais quantos já apareceram na arena e mais alguns, dragões e outros que tais — e falava de coisas que ocorreriam daqui a centenas de anos, o que é bastante seguro, mas Berric disse que parecia, tudo aquilo, profundamente verdadeiro, como se você apostasse o último tostão na exatidão das profecias.
— Talvez tenha que fazê-lo — disse eu secamente, — se falei alguma coisa sobre Vortigern ou meu pai.
— E falou — retorquiu Cadal.
— Bem, é melhor eu saber. Vou ter que sustentar o que disse.
— Foi tudo enfeitado, como coisa de poeta, dragões vermelhos e dragões brancos em combate, devastando tudo, banhos de sangue, e coisas desse tipo. Mas parece que você lhes disse, tintim por tintim, tudo o que ia acontecer: o dragão branco dos saxões e o dragão vermelho de Ambrosius lutando até o fim, o dragão vermelho não parecendo muito inteligente a princípio, mas terminando por vencer. Sim. Depois viria de Cornwall um urso, que limparia o campo.
— Um urso? Você quer dizer o Javali, certamente; é o emblema de Cornwall. Hum. Então poderá ser para o meu pai afinal...
— Berric disse um urso. Artos foi a palavra... prestou atenção porque ele próprio ficou imaginando. Mas você foi claro a esse respeito, diz ele. Artos foi como o chamou, Arthur... um nome, sim. Você quer-me convencer de que não se lembra de uma única palavra?
— Nem uma.
— Bem, olhe aqui, não consigo lembrar-me do resto, mas se eles começarem a lhe perguntar, você poderia dar um jeito para que lhe contassem tudo o que você disse. É assim mesmo, não é, um profeta não sabe o que fala? Oráculos e coisas assim?
— Creio que sim.
— O que quero dizer é, se terminou de comer e se sente realmente bem, talvez seja melhor levantar-se e vestir-se. Estão todos a sua espera lá fora.
— Para quê? Pelo amor de Deus, não querem mais conselhos? Estão mudando 'o local da construção da torre?
— Não. Eles estão fazendo o que você mandou.
— E o que foi?
— Drenando o lago. Estiveram trabalhando a noite e o dia todo montando as bombas para retirarem a água pelo acesso da mina.
— Mas por quê? Isto não tornará a torre mais segura. Na verdade, poderá até fazer com que o penhasco todo ceda. Sim, já terminei, pode levar. — Empurrei a bandeja para as suas mãos e afastei as cobertas: — Cadal, você está tentando dizer-me que eu recomendei isso no meu... delírio?
— É. Você disse a eles que drenassem o lago e que no fundo encontrariam as bestas que faziam ruir o Forte do Rei. Dragões, você disse, vermelhos e brancos.
Sentei-me na beirada da cama, a cabeça entre as mãos.
— Lembro-me de alguma coisa agora... algo que vi. Sim, deve ter sido isso... Vi uma coisa sob a água, provavelmente apenas uma pedra com formato de dragão... E lembro-me de começar a dizer alguma coisa ao Rei a respeito de drenar o lago... Mas não lhes disse que drenassem, eu ia dizendo: — "Mesmo que drenassem o lago, isto não adiantaria". Pelo menos foi o que comecei a dizer. — Deixei cair as mãos e olhei para cima. — Você quer dizer que eles estão, realmente, drenando o local, pensando que haja algum animal marinho no fundo, abalando as fundações?
— Foi o que você falou, segundo Berric.
— Berric é um poeta, está enfeitando.
— Talvez. Mas eles estão lá fora fazendo isso e as bombas estão trabalhando a toda há algumas horas já. O Rei está à sua espera.
Fiquei sentado em silêncio. Ele me lançou um olhar de dúvida, 0 retirou-se com a bandeja, voltando com toalhas e uma bacia de prata com água fumegante. Enquanto eu me lavava, ocupou-se com uma arca do outro lado do quarto, tirando roupas e sacudindo as dobras, falando por sobre o ombro.
— Você não parece preocupado. Se eles drenarem aquele lag0 até o fundo e não houver nada lá...
— Haverá alguma coisa. Não me pergunte o quê, não sei, mas se eu disse... é verdade, sabe. As coisas que vejo desse modo são verdadeiras. Tenho Vidência.
Suas sobrancelhas arquearam-se.
— Acha que está me contando alguma novidade? Já não me deixou apavorado dezenas de vezes com o que diz e as coisas que vê e que mais ninguém vê?
— Você costumava ter medo de mim, não era, Cadal?
— De certa forma. Mas não tenho medo agora nem tenho intenção de ter medo. Alguém tem de cuidar do próprio diabo enquanto ele usar roupas e precisar de comida e bebida. Agora se terminou, jovem amo, veremos se lhe servem as coisas que o Rei mandou.
— O Rei mandou-as?
— É. Parecem essas coisas que acham que um mago deve usar. 'ri Acerquei-me para olhar.
— Não aquelas vestes brancas com estrelas e luas e um bastão com serpentes entrelaçadas? Oh, francamente, Cadal...
— Bem, as suas roupas estão arruinadas, terá que vestir alguma coisa. Vamos, ficará elegante, e parece-me que deveria tentar impressioná-los, na enrascada em que se meteu.
Ri-me.
— Talvez você tenha razão. Deixe-me vê-las. Hum, não, não a branca, não quero competir com o grupo de Maugan. Alguma coisa escura, acho melhor, e a capa preta. Sim, esta servirá. E usarei o broche do dragão vermelho.
— Espero que esteja agindo bem em parecer tão seguro de si. — Então hesitou. — Olhe, sei que agora tudo são rosas, mas talvez devêssemos tentar escapar imediatamente em vez de esperar para ver como caem os dados? Eu poderia roubar dois cavalos...
— Fugir? Então continuo prisioneiro?
— Há guardas por toda a parte. Cuidando de você desta vez, não mantendo-o preso, mas, pelo cão, dá na mesma. — Ele espiou pela janela. — Estará escuro dentro em pouco. Olhe, eu poderia contar uma história comprida para mantê-los quietos e talvez você pudesse fingir que vai dormir novamente até escurecer...
— Não. Preciso ficar. Se conseguir que Vortigern me ouça... Deixe-me pensar, Cadal. Você viu Marric na noite em que fomos apanhados. Quer dizer que as notícias estão a caminho do meu pai, se sei julgar alguma coisa, ele se mexerá imediatamente. Até aí, estamos com sorte. Quanto mais cedo, melhor. Se ele puder apanhar Vortigern aqui no oeste antes que tenha uma chance de juntar-se Hengist... — Pensei um momento. — Ora, o navio deveria ter saído três, não quatro dias atrás...
— Saiu antes de você deixar Maridunum — disse ele, rápido.
— O quê?
Ele sorriu da minha expressão.
— Bem, o que esperava? O próprio filho do Conde e a senhora dele são levados dessa forma, ninguém sabia ao certo por quê, mas havia histórias correndo, e até Marric reconheceu o bom senso de voltar imediatamente para Ambrosius com aquela história. O navio partiu com a maré naquela madrugada. Deveria já estar ao largo do estuário quando você saiu da cidade.
Fiquei muito quieto. Lembro-me de que ele se ocupou à minha volta, pregueando a capa preta, sorrateiramente puxando uma dobra para encobrir o broche de dragão que a prendia.
Então dei um longo suspiro.
— É tudo que eu precisava saber. Agora estou certo do que fazer. "O profeta do Rei", disse você? É muito mais verdade do que imaginam. O que o profeta do Rei precisa fazer agora é tirar a coragem desses vermes amantes dos saxões e induzir Vortigern a sair deste canto de Gales, para algum lugar onde Ambrosius possa desentocá-lo com fumaça rapidamente, e destruí-lo.
— Acha que pode fazer isso?
— Sei que posso.
— Então espero que saiba como nos tirar daqui antes que eles descubram de que lado você está.
— Por que não? Assim que soubermos para onde irá Vortigern, levaremos notícia ao meu pai pessoalmente. — Acertei a capa nos ombros e sorri para ele. — Portanto, roube esses cavalos, Cadal, e deixe-os à nossa espera junto ao rio. Há uma árvore caída de través na água; não há como errar, espere lá, onde você se pode esconder. Estarei lá. Mas primeiro preciso ir ajudar Vortigern a descobrir os dragões.
Encaminhei-me para a porta, mas ele chegou à minha frente e parou com a mão no trinco. Seus olhos estavam apavorados:
— Você quer que eu o deixe sozinho no meio daquela alcatéia?
— Eu não estou sozinho. Lembre-se disto. E, se não puder confiar em mim, confie em quem está comigo. Aprendi a fazê-lo Aprendi que o deus vem quando quer e como quer, tomando nossa pele de empréstimo para entrar em nós, e quando termina, livra-se tão violentamente como quando entra. Depois... agora... sinto-me leve e oco como um anjo voando... Não, eles não podem fazer-me nada, Cadal. Não tenha medo. Tenho o poder.
— Eles mataram Galapas.
— Algum dia poderão matar-me — disse eu. — Mas não hoje. Abra a porta.
Estavam todos reunidos ao pé do penhasco, onde a trilha dos trabalhadores encontrava o nível alagado da escavação da encosta. Eu ainda estava sob guarda, mas desta vez, ao menos em aparência, era uma guarda de honra. Quatro homens fardados, com as espadas embainhadas, escoltaram-me até o Rei.
Eles haviam assentado uma esteira de tabuinhas sobre o solo empapado para erguer uma plataforma, onde colocaram uma cadeira para o Rei. Alguém construíra um quebra-vento de galhos entrelaçados dos três lados, um teto, e cobrira o pavilhão com uma porção de tapetes trabalhados e peles tingidas. Vortigern encontrava-se sentado ali, o queixo no punho, silencioso. Não havia sinais da Rainha ou mesmo de qualquer outra mulher. Os sacerdotes estavam postados junto a ele, mas mantinham-se afastados e não falavam. Seus capitães ladeavam-lhe a cadeira.
O sol caía por trás do pavilhão improvisado, em meio a uma mancha púrpura. Devia ter chovido outra vez naquele dia; a relva estava encharcada, as folhas pesadas de gotas. As conhecidas nuvens cinzentas dobravam-se e desdobravam-se lentamente pelo ocaso. Ao ser conduzido à presença do Rei, estavam acendendo os archotes. Estes pareciam pequenos e fracos contra o pôr do sol, mais fumaça que chama, arrastados e achatados pelo vento em rajadas.
Esperei diante da plataforma. O Rei mediu-me de alto a baixo, mas nada disse. Reservava julgamento. E por que não, pensei. O tipo de coisa que eu produzira deveria parecer-lhe bastante familiar. Agora esperava pela prova de ao menos parte da minha profecia. Se não viesse, ainda seria tempo e lugar para derramar o meu sangue. Eu imaginava como soprariam os ventos na Bretanha Menor. O rio estava a bem uns trezentos passos, escuro sob os carvalhos e salgueiros.
Vortigern fez-me sinal para que tomasse lugar na plataforma ao seu lado e subi à sua direita, do lado oposto aos sacerdotes. Um ou dois oficiais abriram lugar para mim, os rostos impassíveis, sem olharem, mas vi-lhes os dedos cruzados e pensei: com dragão ou sem dragão posso-me encarregar desses. Então senti que me observavam e olhei em meu redor. Era o barba-grisalha. Observava fixa mente o broche do meu ombro, de onde a capa fora afastada pelo vento. Quando virei a cabeça, nossos olhares se cruzaram. Vi seus olhos arregalarem-se e a mão descer para o quadril, não para fazer o sinal, mas para soltar a espada da bainha. Olhei para o outro lado Ninguém falou.
Foi uma vigília desconfortável. À medida que o sol descia, o vento frio da primavera refrescava, agitando os cortinados. Onde haviam poças no chão de juncos, a água ondulava e transbordava com o vento. Ouviu-se um maçarico passar assoviando pelo céu que escurecia, depois mergulhar, farfalhando como uma cascata, e desaparecer no silêncio. No alto, o estandarte do Rei flutuava e adejava ao vento. A sombra do pavilhão alongava-se pelo campo molhado.
De onde esperávamos, o único sinal de atividade era um vaivém nos galhos das árvores. Os últimos raios do sol, horizontais e vermelhos, incidiam em cheio sobre o lado ocidental do Forte do Rei, iluminando o topo do penhasco coroado pela parede desmoronada. Não havia nenhum trabalhador à vista ali; deviam estar todos na caverna e no poço. Meninos corriam, revezando-se, trazendo notícias do progresso: as bombas trabalhavam bem, vencendo a água... o nível baixara dois palmos na última meia hora... Se my lord o Rei tivesse paciência, as bombas haviam enguiçado, mas os engenheiros estavam tentando consertá-las e entrementes os homens haviam montado um sarilho e passavam baldes... Tudo estava bem novamente, as bombas funcionavam e o nível baixava rapidamente... Pensavam que já podiam ver o fundo...
Foram duas horas inteiras de espera no sereno que entorpecia e já era quase noite, quando as luzes desceram pelo caminho, e com elas o grupo de trabalhadores. Caminhavam rápidos e decididos, não como homens assustados, e mesmo antes de se aproximarem o suficiente para serem vistos com clareza, eu sabia o que tinham encontrado. Os líderes pararam a um metro da plataforma e quando os outros vieram chegando eu senti os meus guardas apertarem o cerco.
Havia soldados entre os trabalhadores. O capitão deu um passo à frente, fazendo uma saudação.
— O lago está vazio? — perguntou Vortigern.
— Sim, senhor.
— E o que tem no fundo?
O oficial fez uma pausa. Deveria ter sido um bardo. Não havia necessidade de parar para concentrar olhares; já estavam todos postos nele.
Uma rajada de vento, súbita e mais forte que as anteriores, levantou sua capa para um lado com um estalido como o de um chicote e balançou a armação do pavilhão. Um pássaro passou sobre as nossas cabeças, jogado pelo vento. Não um falcão; não esta noite. Apenas uma gralha retardatária.
— Não há nada sob o lago. — Sua voz era neutra, cautelosamente oficial, mas ouvi um murmúrio passar pela gente como uma nova rajada de vento. Maugan esticava-se para a frente, os olhos brilhantes como os de um abutre, mas eu via que não ousaria falar até ver a reação do Rei. Vortigern curvou-se para a frente. — Tem certeza disso? Esvaziou até o fundo?
— Verdade, senhor. — Ele acenou para os homens ao lado dele e três ou quatro adiantaram-se para despejar um monte de objetos à frente da plataforma. Uma picareta partida, corroída de ferrugem, alguns machados de sílex mais antigos que qualquer obra romana, uma fivela de cinto, uma faca com a lâmina quase desaparecida, um pedaço de corrente, um cabo de chicote em metal, outros objetos impossíveis de serem identificados, e alguns cacos de panelas.
O oficial estendeu as palmas das mãos.
— Quando eu disse "nada", senhor, referia-me apenas ao que se poderia esperar. Isso. E chegamos tão próximo do fundo até que já não fizesse diferença; podia ver-se até a rocha e a lama, mas retiramos até o último balde, por via das dúvidas. O capataz está aí para confirmar.
O capataz adiantou-se, então, e vi que trazia um balde cheio na mão, a água a transbordar.
— Senhor, é verdade, não há nada aqui. Poderia ver por si mesmo se fosse até lá, senhor, até o fundo. Mas é melhor não experimentar, o túnel está cheio de lama agora, e pouco próprio. Mas trouxe o último balde para o senhor ver.
Ao dizer isso, virou o balde, encharcando o chão já molhado e a água escorreu para encher a poça na base do estandarte real. Com a lama que jazia no fundo vieram alguns fragmentos de pedra e uma moeda de prata.
O Rei voltou-se então para mim. Devia ser a medida do que acontecera na caverna no dia anterior, o fato de os sacerdotes manterem-se ainda silenciosos e o Rei aguardar claramente, não uma desculpa mas uma explicação.
Deus sabia que eu tivera bastante tempo para refletir, durante toda aquela longa vigília silenciosa e fria, mas eu sabia que pensar não iria ajudar-me. Se ele estava comigo, apareceria agora. Olhei Para as poças que a última luz avermelhada do sol transformara em sangue. Olhei para o alto, além do penhasco onde já se podiam ver estrelas surgindo brilhantes pelo leste claro. Outra rajada de vento aproximava-se; ouvi-a passar pelos topos dos carvalhos, onde Cadal deveria estar esperando.
— Bem? — disse Vortigern.
Dei um passo à frente para a beira da plataforma. Ainda me sentia vazio, mas de alguma forma precisava falar. Ao mover-me, o vento bateu no pavilhão, forte como uma pancada. Ouviu-se um estalido, uma agitação como a de cães a perseguirem um veado e o grito entrecortado de alguém. Do alto o estandarte do Rei escorregou esvoaçante, foi apanhado nas próprias cordas, enfunou-se como uma vela com o sopro do vento. O mastro sacudiu-se violentamente de um lado para outro no solo fofo que se tornara menos firme com o balde de água, soltou-se subitamente das mãos que o seguravam e rodopiou caindo no chão. Bateu aberto no campo encharcado aos pés do Rei.
O vento passou e seguiu-se uma calmaria. O estandarte ficou estendido e pesado de água. O Dragão Branco em campo verde. Enquanto eu o observava, afundou lentamente na poça e a água encobriu-o. Um último raio débil de sol ensangüentou a água. Alguém disse temeroso:
— Um sinal — e outra voz alta: — Grande Thor, o dragão caiu!
Outros começaram a gritar. O porta-estandarte, o rosto cinzento, já se curvava, mas eu pulei da plataforma à frente de todos e ergui os braços.
— Pode alguém duvidar de que o deus falou? Tirem os olhos do chão e vejam o que ainda diz!
No leste escuro, faiscando, branco, com uma cauda como a de um cometa novo, passou um meteoro, a estrela que os homens chamam de dragão de fogo.
— Lá está ele! — gritei. — Lá está ele! O Dragão Vermelho do oeste! Digo-lhe, rei Vortigern, não perca mais tempo com esses tolos ignorantes que falam de sacrifícios de sangue e de construir-lhe uma parede de pedra, trinta centímetros por dia! Que muralha manterá afastado o Dragão? Eu, Merlin, digo-lhe, mande esses sacerdotes embora, e reúna seus capitães em torno de si e saia das montanhas de Gales para o seu próprio país. Viu o Dragão Vermelho aparecer esta noite e o Dragão Branco jazendo aos seus pés. E, por Deus, viu a verdade! Ouça o aviso I Levante suas tendas agora e parta para o seu próprio país e vigie as fronteiras para que o Dragão não o siga e o destrua pelo fogo! Trouxe-me aqui para falar e já falei. Digo-lhe, o Dragão está aqui!
O Rei estava de pé e os homens gritavam. Aconcheguei-me na a preta e sem pressa atravessei a multidão de trabalhadores e soldados que se aglomerava em torno da plataforma. Não tentaram fazer-me parar. Prefeririam, suponho eu, tocar numa serpente venenosa. As minhas costas, em meio ao alarido, ouvi a voz de Maugan pensei por um momento que fossem seguir-me, mas então os homens começaram a afastar-se da plataforma, abrindo caminho por entre a turba de trabalhadores, de volta ao acampamento. Os archotes agitavam-se. Alguém levantou o estandarte molhado e eu o vi esvoaçando e pingando onde presumivelmente os capitães abriam caminho para o Rei. Puxei a capa preta para mais perto do corpo e esgueirei-me pelas sombras à margem da aglomeração. Afinal, sem ser visto, passei por trás do pavilhão.
Os carvalhos encontravam-se a uns trezentos passos no campo escuro. À sombra deles corria o rio turbulento pelas pedras lisas.
A voz de Cadal soou baixa e ansiosa:
— Por aqui.
Um casco bateu numa pedra.
— Apanhei para você um manso — disse ele, colocando a mão sob o meu pé para alçar-me à sela.
Ri-me.
— Eu poderia montar o próprio dragão de fogo esta noite. Você viu?
— Sim, my lord. Vi-o, e escutei-o também.
— Cadal, você jurou que nunca teria medo de mim. Foi apenas um meteoro.
— Mas apareceu na hora que apareceu.
— Sim. E agora é melhor partirmos enquanto podemos. O tempo é só o que conta, Cadal.
— O senhor não devia rir-se, Mestre Merlin.
— Pelo deus, — disse eu, — não estou rindo.
Os cavalos saíram do abrigo das árvores gotejantes e cruzaram a ponte num meio-galope rápido. Para a nossa direita uma montanha coberta de árvores bloqueava o oeste. À frente achava-se a garganta estreita do vale entre a montanha e o rio.
— Eles virão ao seu encalço?
— Duvido.
Mas, ao esporearmos os animais para galoparem entre a montanha e o rio, surgiu um cavaleiro e eles viraram-se, empinando.
O cavalo de Cadal pulou à frente sob as esporas. O ferro produziu um ruído dissonante. Uma voz vagamente conhecida disse, clara:
— Pare, amigo.
Os cavalos sapateavam e resfolegavam. Vi a mão de Cadal nas rédeas do outro. Ele mantinha-se quieto.
— Amigo de quem?
— De Ambrosius. Eu disse:
— Espere, Cadal, é o barba-grisalha. O seu nome, senhor? E o seu assunto comigo?
Ele pigarreou asperamente.
— Gorlois é meu nome, de Tentável, em Cornwall.
Vi o movimento de surpresa de Cadal e ouvi os freios tilintarem. Ele ainda segurava as rédeas do outro e a adaga desembainhada brilhava. O velho guerreiro continuava imóvel. Não havia barulho de cascos seguindo-o.
Eu disse lentamente:
— Então, senhor, eu deveria antes perguntar-lhe qual era o seu assunto com Vortigern?
— O mesmo que o seu, Merlinus Ambrosius. — Vi-lhe os dentes brilharem em meio à barba. — Vim para o norte para verificar in loco, e mandar as notícias a ele. O oeste já esperou o bastante, e a hora estará madura na primavera. Mas você veio cedo. Parece que eu poderia ter-me poupado o trabalho.
— Veio só?
Ele soltou uma gargalhada curta e forte, como o latido de um cachorro.
— À presença de Vortigern? Dificilmente! Meus homens vêm a seguir. Mas eu precisava alcançá-lo. Quero notícias. Então, irritado: — Meu Deus, homem, duvida de mim? Vim sozinho até aqui.
— Não, senhor. Solte-o, Cadal. My lord, se quiser falar comigo, terá que ser durante o trajeto. Temos de partir e rápido.
— Com todo o gosto. — Pusemos os cavalos em movimento. Quando começaram a galopar, eu disse por cima do ombro: — Adivinhou quando viu o broche?
— Antes disso. Você se parece com ele, Merlinus Ambrosius. — Ouvi-o rir-se outra vez, um riso gutural. — E, por Deus, há vezes em que parece-se com o seu pai demônio também! Firme agora. Estamos quase no vau. É fundo. Dizem que os magos não podem atravessar a água?
Ri-me.
— Sempre enjôo no mar, mas posso dar um jeito aqui.
Os cavalos mergulharam pelo vau sem dificuldade e subiram nela encosta a galope. Chegamos então à estrada pavimentada, clara 'luz fugaz das estrelas, que atravessa o terreno montanhoso para o sul.
Cavalgamos a noite toda sem sermos seguidos. Três dias tarde, de manhãzinha, Ambrosius desembarcou.
LIVRO IV - O DRAGÃO VERMELHO
Da maneira como as crônicas relatam, pensar-se-ia que Ambrosius levou dois meses para ser coroado Rei e pacificar a Bretanha. Na verdade, levou mais de dois anos.
A primeira parte foi bastante rápida. Não fora inutilmente que ele e Uther haviam passado todos aqueles anos na Bretanha Menor, preparando uma força especializada de impacto, a qual não era vista na Europa desde a dissolução, quase cem anos antes, da força comandada pelo Conde da Costa Saxônica. De fato, Ambrosius havia modelado o seu próprio exército naquela força, que era um instrumento de luta maravilhosamente móvel capaz de viver fora do país e fazer tudo duas vezes mais rápido que uma força normal. Velocidade de César, eles ainda a chamavam quando eu era criança.
Desembarcou em Totnes, Devon, com vento favorável e mar calmo, e mal erguera o estandarte do Dragão Vermelho, quando todo o oeste se levantou a seu favor. Tornou-se Rei de Cornwall e Devon antes de deixar a praia, e por toda parte, à medida que avançava para o norte, os chefes e reis acorriam para engrossar suas fileiras. Eldol de Gloucester, um velho feroz que lutara com Constantine contra Vortigern, com Vortigern contra Hengist, com Vortimer contra ambos, e lutaria em qualquer parte só pelo prazer da luta, foi ao seu encontro em Glastonbury, jurando-lhe lealdade. Com ele veio uma hoste de líderes menores, incluindo seu próprio irmão, Eldad, um bispo cujo piedoso cristianismo fazia os lobos pagãos parecerem cordeiros por comparação, e que me deixou a imaginar onde passaria as noites escuras do solstício de inverno. Mas era poderoso; eu ouvira minha mãe falar dele com reverência. Uma vez que se declarou por Ambrosius, toda a Bretanha cristã veio com ele, ansiosa para expulsar as hordas pagas que se deslocavam continuamente para o interior a partir dos locais de desembarque no Sul e no Leste. Por último chegou Gorlois de Tintagel diretamente da cabeceira de Vortigern, com notícias da sua partida Precipitada das montanhas galesas, e pronto a ratificar o juramento de lealdade que, no caso de Ambrosius ser bem sucedido, acrescentaria pela primeira vez todo o reino de Cornwall ao Alto Reino da Bretanha.
O maior problema de Ambrosius, na verdade, não era a falta de apoio, mas a natureza do mesmo. Os bretões nativos, cansados de Vortigern, estavam loucos para expulsar os saxões do país e voltar aos seus lares e tradições, mas a grande maioria conhecia apenas a luta de guerrilha ou a tática de atacar e fugir que funciona para desnortear o inimigo, mas que não o mantém afastado por muito tempo se estiver realmente disposto. Além do mais, cada tropa trazia um líder próprio e a autoridade de qualquer comandante pouco valia para sugerir que se reagrupassem e treinassem sob a direção de um estranho. Desde que a última legião treinada se retirara da Bretanha quase um século antes, tínhamos lutado em tribos (como fazíamos antes da chegada dos romanos). E não adiantava sugerir, por exemplo, que os homens de Devet lutassem ao lado dos homens de Gales do Norte, mesmo sob líderes próprios; gargantas teriam sido cortadas de ambos os lados antes mesmo que a primeira trompa soasse.
Ambrosius aqui, como em toda a parte, mostrou-se um mestre. Como sempre, usava cada homem de acordo com sua própria força. Espalhou seus oficiais entre os britânicos — para coordenação, nada mais, disse ele — e através desses, suavemente, adaptava as táticas de cada força para convir ao seu plano central, com um corpo de tropas escolhidas aparando o grosso do ataque.
Tudo isso eu ouvi mais tarde, ou poderia ter adivinhado pelo que dele conhecia. Poderia ter adivinhado também o que aconteceria quando as suas forças se reunissem e o declarassem rei. Seus aliados britânicos reclamaram que partisse imediatamente contra Hengist e expulsasse os saxões. Não estavam excessivamente preocupados com Vortigern. Na verdade, o poder que Vortigern possuía já quase desaparecera, e teria sido bastante simples para Ambrosius ignorá-lo e concentrar-se nos saxões.
Mas ele recusou-se a ceder às pressões. O velho lobo precisava ser desentocado primeiro, e o campo limpo para a principal tarefa da batalha. Além do mais, salientou ele, Hengist e os saxões eram nórdicos e, particularmente, sensíveis aos rumores e ao medo; se Ambrosius conseguisse unir a Bretanha para destruir Vortigern, os saxões começariam a temê-lo como uma força a ser realmente considerada. Era seu palpite que, com o tempo, eles trariam um grande exército para enfrentá-lo, que poderia então ser destruído num só golpe.
Realizaram um conselho sobre esse problema no forte perto de Gloucester, onde a primeira ponte cruza o rio Sefern. Eu podia
imaginar Ambrosius escutando, pesando, julgando e respondendo com aquela sua maneira séria e fácil, permitindo a cada homem que falasse por uma questão de orgulho, e tomando afinal a decisão que pretendera tomar desde o começo, mas cedendo aqui e ali nas pequenas coisas, para que cada homem pensasse que fizera uma barganha e conseguira, talvez não o que queria, mas algo muito próximo, em troca de uma concessão ao seu comandante.
O resultado foi que eles marcharam para o norte dentro de uma semana e enfrentaram Vortigern em Doward.
Doward está situada no vale do Guoy, um rio grande que corre profundo e aparentemente tranqüilo por uma garganta cujas encostas altas são cobertas de árvores. Aqui e ali o vale se alarga em pastagens verdejantes, mas a maré penetra muitas milhas pelo rio acima e essas campinas baixas no inverno são freqüentemente alagadas por uma torrente amarela, pois o grande rio não é tão plácido quanto parece, e mesmo no verão há fossas profundas, onde nadam grandes peixes, e as correntes são suficientemente fortes para virar um bote e afogar um homem.
Bem ao norte do limite das inundações das marés, numa curva larga do vale, erguem-se as duas montanhas chamadas Doward. A do norte é a maior, coberta de denso arvoredo e minada de grutas habitadas, dizem que por animais selvagens e homens fora da lei. A Doward Menor é também arborizada, mas mais esparsamente, uma vez que é rochosa e seu cume pontiagudo, projetando-se acima da vegetação, forma uma cidadela natural tão segura que vem sendo fortificada desde tempos imemoriais. Muito antes da chegada dos romanos, algum rei britânico construiu para si uma fortaleza no topo, que com a sua vista privilegiada e as defesas naturais do penhasco e do rio, constitui uma formidável cidadela. A montanha tem um topo largo e os lados íngremes e escarpados, e embora as máquinas de assédio pudessem ser arrastadas por um ponto para a zona morta, esta terminava em penhascos onde as máquinas se tornariam inúteis. Por toda parte, exceto nesse ponto, havia muralhas duplas e um fosso antes de poder atingir-se a muralha externa da fortaleza. Os próprios romanos haviam certa vez marchado contra ela e só conseguiram tomá-la a traição. Isto foi na época de Caratacus. Doward era o tipo de lugar que, como Tróia, precisava ser tomada de dentro para fora.
Desta vez também ela foi tomada assim. Não por traição, mas pelo fogo.
Todos sabem o que aconteceu.
Os homens de Vortigern mal se haviam instalado a seguir fuga precipitada de Snowdon, quando o exército de Ambrosius surgiu no vale do Guoy e acampou para oeste do monte Doward, num lugar chamado Ganarew. Eu nunca soube que estoque de provisões tinha 1 Vortigern; mas o lugar fora conservado pronto e era bem sabido! que havia duas boas fontes no interior da fortaleza das quais nunca j se ouvira dizer que tivessem falhado; portanto, poderia muito bem! ter levado a Ambrosius algum tempo para liquidá-lo num cerco. Mas um cerco era exatamente o que ele não podia permitir-se, com Hengist reunindo forças e o mar de abril tornando-se navegável entre a Bretanha e as costas saxônicas. Além do mais, seus aliados britânicos estavam impacientes e nunca se teriam acomodado a um sítio prolongado. Tinha de ser rápido.
E foi tão rápido quanto brutal. Ouvi mesmo dizer que Ambrosius teria agido por espírito de vingança devido à morte do irmão. Não creio que seja verdade. Uma amargura tão duradoura não seria da sua natureza, e mais, ele era um general e um bom comandante de batalha antes mesmo de ser homem. Foi levado pela necessidade e no final pela própria brutalidade de Vortigern.
Ambrosius sitiou a fortaleza da forma convencional por cerca de três dias. Onde foi possível, postou máquinas de assédio e tentou romper as defesas. Na realidade, chegou a romper a muralha externa em dois pontos acima do que ainda é conhecido como o caminho dos romanos, mas quando foi paralisado pela muralha interna e suas tropas ficaram expostas aos defensores, retirou-se. Ao perceber quanto tempo levaria o cerco, e como, mesmo nesses três dias, algumas tropas haviam-no deixado silenciosamente, partindo por conta própria como cães atrás de boatos sobre lebres saxônicas, ele decidiu pôr um ponto final na coisa. Enviou um homem a Vortigern com as condições da rendição. Vortigern, que deve ter notado a deserção de certas tropas britânicas e que bem compreendia a posição de Ambrosius, riu-se e mandou de volta o mensageiro sem mensagem alguma, mas com as mãos cortadas e presas à cintura por um pano ensangüentado.
O homem entrou aos tropeções pela tenda de Ambrosius logo depois do pôr do sol do terceiro dia e conseguiu manter-se em pé o tempo suficiente para entregar a única mensagem de que o haviam encarregado.
— Dizem, my lord, que o senhor pode ficar aqui até que o seu exército se derreta, e o senhor fique sem mãos como eu. Têm bastante comida, senhor, eu vi, e água...
Ambrosius apenas perguntou:
— Foi ele quem ordenou isso?
— A Rainha — disse o homem. — Foi a Rainha.
Ao dizer isso, caiu de borco aos pés de Ambrosius e do pano ensangüentado à sua cintura caíram as duas mãos esparramadas.
— Então queimaremos o ninho de vespas, com rainha e tudo _ disse Ambrosius — Cuidem dele.
Aquela noite, para aparente satisfação da guarnição, as máquinas de assédio foram retiradas do caminho dos romanos e dos pontos abertos na muralha externa. Ao invés, grandes montes de galhos secos foram colocados nas brechas e o exército apertou o cerco em torno do pico da montanha, com um círculo de arqueiros de prontidão e homens dispostos a cortar qualquer um que escapasse. Na hora tranqüila que precede a alvorada, a ordem foi dada. De todos os lados choveram sobre a fortaleza flechas com pontas de trapos embebidos em óleo e acesas. Não demorou muito. O local era na maior parte construído de madeira e estava repleto de carroças, provisões, animais e forragem. Ardeu violentamente. E quando estava em chamas, a galharia do lado de fora das muralhas foi acesa de modo que qualquer um que pulasse encontraria mais uma parede de fogo. E do outro lado desta, o anel de ferro do exército.
Dizem que durante todo o tempo Ambrosius permaneceu sentado no grande cavalo branco até que as chamas tornaram o cavalo tão vermelho quanto o Dragão Vermelho acima da sua cabeça. E no alto da torre da fortaleza o Dragão Branco, contra um penacho de fumaça, tornou-se vermelho como as próprias chamas, enegreceu e caiu.
Enquanto Ambrosius atacava Doward, eu ainda me encontrava em Maridunum, tendo-me separado de Gorlois que, a caminho do sul, ia ao encontro do meu pai.
Aconteceu assim. Por toda a primeira noite cavalgamos a toda velocidade, mas não havia sinais de perseguição; portanto, ao nascer do sol saímos da estrada e descansamos à espera de que os homens de Gorlois nos alcançassem. Isto eles fizeram naquela manhã, tendo conseguido no semi-pânico de Dinias Brenin sair despercebidos. Confirmaram o que Gorlois já me sugerira, que Vortigern rumaria não para sua própria fortaleza em Caer-Guent, mas para Doward, no rio Guoy. Já se deslocava, diziam, pela estrada do leste que passava por Caer Gai a caminho de Bravonium. Uma vez passando Tomem-y-Mur, não haveria perigo de sermos alcançados.
Então prosseguimos, uma tropa agora de uns vinte homens, mas descansadamente. Minha mãe e sua escolta de soldados estavam pouco mais de um dia à nossa frente, e o grupo, que levava liteiras, seguiria muito mais devagar que o nosso. Não tínhamos desejo algum de alcançá-los e talvez forçar uma luta que pudesse colocar as mulheres em perigo; era certo, disse Gorlois, que ela seria entregue a salvo em Maridunum, "mas" — acrescentou no seu modo brusco — defrontar-nos-emos com a escolta na volta, pois, voltar, eles voltarão; não têm meios de saber que o Rei está-se deslocando para leste. E cada homem a menos para Vortigern é um a mais para o seu pai. Teremos notícias em Bremia e acamparemos um pouco além para esperá-los.
Bremia não passava de um punhado de casebres de pedra cheirando a turfa queimada e a excremento de gado, portas negras protegidas do vento e da chuva por peles ou sacos, em torno das quais espreitavam olhos amedrontados de mulheres e crianças. Nenhum homem apareceu, mesmo quando fizemos alto no centro do lugarejo e os vira-latas saíram a latir por entre os cascos dos cavalos.
Aquilo nos intrigou até que, conhecendo o dialeto, me dirigi aos olhos por trás da cortina mais próxima para tranqüilizar a gente e pedir notícias.
Saíram, então, mulheres, crianças e uns dois velhos, aglomerando-se à nossa volta e prontos a falar.
A primeira notícia foi que a comitiva de minha mãe estivera ali no dia e noite anteriores, partindo somente aquela manhã por insistência da Princesa. Estava doente, contaram-nos, e ficara por meio dia e uma noite na casa do chefe do lugar, onde foi tratada. As mulheres que a acompanhavam haviam tentado persuadi-la a seguir para um estabelecimento monástico que havia nas montanhas próximas, e onde poderia descansar, mas ela recusara-se e parecera melhor pela manhã, de modo que o grupo partira. Fazia frio, disse a mulher do chefe, a senhora estava febril e tossia um pouco, mas acordara bem melhor na manhã seguinte e Maridunum não ficava a mais de um dia a cavalo. Assim, acharam melhor deixá-la fazer como queria...
Olhei para o casebre esquálido do qual ela saíra ao nosso encontro, pensando que, realmente, o perigo de mais algumas horas de liteira seria menor que aquele abrigo miserável de Bremia. Portanto, agradeci à mulher pela gentileza e perguntei-lhe para onde fora o marido. Quanto a isso, disse-me ela, todos os homens tinham partido para juntar-se a Ambrosius...
Ela compreendeu mal o meu olhar de surpresa.
— O senhor não sabia? Esteve um profeta em Dinas Brenin que disse que o Dragão Vermelho viria. A própria Princesa contou-me, e podia ver-se que os soldados estavam amedrontados. E agora ele desembarcou. Está aqui.
— Como pode saber? — perguntei-lhe. — Não encontramos nenhum mensageiro.
Ela me olhou como se eu fosse maluco ou estúpido. Será que eu não vira o dragão de fogo? A vila inteira sabia do portento, depois que o profeta falara. Os homens tinham-se armado e partido naquele mesmo dia. Se os soldados voltassem, as mulheres e as crianças fugiriam para as montanhas, mas todos sabiam que Ambrosius podia deslocar-se mais rápido que o vento e eles não tinham medo...
Deixei-a prosseguir enquanto eu traduzia para Gorlois. Nossos olhares cruzaram-se com o mesmo pensamento. Agradecemos à mulher novamente, dei-lhe o que lhe era devido pelos cuidados com minha mãe, e parti no encalço dos homens de Bremia.
Ao sul da vila a estrada se dividia, o caminho principal virava Para sudoeste, passando pela mina de ouro, e a seguir atravessava as montanhas e os vales profundos até o largo vale do Wye, de onde é mais fácil o percurso para a travessia do Sefern e o sudoeste. outra estrada, menor, segue direto para o sul a um dia de Maridunum. Eu decidira que de qualquer forma seguiria minha mãe ao sul e conversaria com ela antes de reunir-me a Ambrosius. Agora as notícias da sua doença tornavam isso imperativo. Gorlois continuaria direto para encontrar-se com Ambrosius e dar-lhe-ia ciência dos movimentos de Vortigern.
Na encruzilhada onde nossos caminhos se separavam, encontramos os aldeões. Percebendo nossa aproximação, tinham-se escondido — o lugar era todo pedras e moitas — mas não suficientemente depressa; o vento de rajadas devia ter encoberto nossa vinda até que estivéssemos em cima deles. Os homens estavam fora de vista, ma uma das suas magras bestas de carga não, e as pedras ainda rolavam pela trilha.
Era Bremia repetida. Paramos e gritei no silêncio cortado pelo vento. Dessa vez disse-lhes quem era, e no que pareceu apenas um instante a estrada coalhou-se de homens. Amontoaram-se em torno dos nossos cavalos, mostrando os dentes e brandindo um estranho sortimento de armas que iam de uma espada curva romana a uma lança de pedra presa num garfo de feno. Contaram a mesma história que as mulheres: tinham ouvido a profecia e haviam visto o portento; marchavam para o sul para juntar-se a Ambrosius e todos os homens do Oeste logo estariam com eles. O ânimo era elevado, mas suas condições, deploráveis; era uma sorte termos oportunidade de ajudá-los.
— Fale com eles — disse-me Gorlois. — Explique que, se esperarem mais um dia aqui conosco, terão armas e cavalos. Escolheram o lugar certo para uma emboscada e quem saberia melhor que eles?
Então disse-lhes que aquele era o Duque de Cornwall e um grande líder e que, se esperassem um dia conosco, providenciaríamos que recebessem armas e cavalos.
— Os homens de Vortigern — continuei — regressarão por este caminho, e não devem saber que o Suserano está fugindo para leste. Virão por esta estrada, nós esperaremos por eles aqui e vocês serão sensatos se esperarem conosco.
Esperamos. A escolta deve ter permanecido mais tempo do que o necessário em Maridunum, e depois daquela viagem fria e úmida quem poderia culpá-los? Mas à aproximação da madrugada do segundo dia, eles voltaram calmamente pensando talvez em passar a noite em Bremia.
Apanhamo-los lindamente de surpresa e travamos uma pequena luta, sangrenta e desagradável. As escaramuças de beira de estrada são quase todas iguais. Esta só diferiu do usual por ser mais bem comandada e mais excentricamente equipada, mas tivemos a vantagem tanto dos efetivos quanto da surpresa e executamos o que n0S havíamos proposto fazer: roubamos Vortigern de vinte homens com perda de apenas três dos nossos e alguns arranhões. Saí mais galhardamente do que acreditaria possível, tendo matado u: homem que escolhera antes de ser engolfado pela luta, e um outro derrubou-me do cavalo e ter-me-ia matado se Cadal não tivesse aparado o golpe e liquidado o sujeito. Terminou rápido. Enterramos nossos mortos e deixamos o resto para os milhafres depois de os despojarmos das armas. Tivéramos o cuidado de não fazer mal aos cavalos, e quando na manhã seguinte Gorlois disse adeus e levou suas novas tropas para o sudoeste, cada homem possuía um cavalo e uma boa arma de algum tipo. Cadal e eu rumamos para o sul, para Maridunum,.onde chegamos ao anoitecer.
A primeira pessoa que vi ao descermos a rua na direção do convento foi meu primo Dinias. Encontramo-lo de repente ao dobrar uma esquina e ele saltou lívido. Suponho que os boatos estivessem grassando como fogo pela cidade desde que a escolta trouxera minha mãe de volta sem mim.
— Merlin. Pensei ... pensei ...
— Bons olhos o vejam, primo, vinha à sua procura. Ele disse, rápido:
— Olhe, juro que não fazia idéia de quem eram aqueles homens...
— Sei disso. O que aconteceu não foi sua culpa. Não era por isso que eu estava à sua procura.
— ... e estava bêbedo, você sabe disso. Mas, mesmo que tivesse adivinhado quem eram, como iria supor que o levariam por causa de uma coisa daquelas? Eu tinha ouvido rumores sobre o que procuravam, admito, mas juro que nunca me passou pela cabeça...
— Eu disse que não foi culpa sua. E estou de volta aqui são e salvo, não estou? Tudo está bem quando acaba bem. Deixe isso Para lá, Dinias. Não era disso que queria falar-lhe.
Mas ele insistiu:
— Eu apanhei o dinheiro, não apanhei? Você viu.
— E daí? Você não deu informações por dinheiro, você o apanhou depois. É diferente, ao que penso. Se Vortigern gosta de atirar dinheiro fora, então pelo amor de Deus, leve-o. Esqueça-se, digo-lhe. Tem notícias de minha mãe?
— Acabei de vir de lá. Ela está doente, sabia?
— Recebi a notícia a caminho do sul. O que tem ela? É grave?
— Friagem, disseram-me, mas está sarando. Achei que ainda parecia bastante mal, mas estava fatigada da viagem e ansiosa por você. Para que Vortigern o queria, afinal?
— Para matar-me — respondi com brevidade. Ele arregalou os olhos e começou a balbuciar.
— Eu... em nome de Deus, Merlin, sei que nunca fomos isto é, houve tempos ... — Ele parou e ouvi-o engolir. — Não vendo meus parentes, você sabe.
— Já disse que acredito. Esqueça-se. Não tinha nada a ver com você, alguma tolice dos adivinhos. Mas, como disse, aqui estou são e salvo.
— Sua mãe não comentou nada.
— Ela não sabia. Acha que ela se deixaria levar mansamente para casa se soubesse o que ele pretendia fazer? Os homens que a trouxeram sabiam, pode estar certo. Não deixaram escapar nada?
— Parece que não — respondeu Dinias. — Mas...
— Fico satisfeito com isso. Espero vê-la em breve e desta vez à luz do dia.
— Então já não corre perigo com Vortigern?
— Correria, suponho, se a cidade ainda estivesse cheia dos homens dele, mas informaram-me no portão que se retiraram para ir juntar-se a ele.
— É isso. Alguns foram para o norte e outros para leste, para Caer-Guent. Ouviu as notícias então?
— Que notícias?
Embora não houvesse ninguém mais na rua, ele olhou por cima do ombro daquela maneira antiga e furtiva. Escorreguei da sela e atirei as rédeas para Cadal.
— Que notícias? — repeti.
— Ambrosius — disse ele baixinho. — Desembarcou no sudoeste, dizem, e marcha para o norte. Um navio trouxe a novidade ontem e os homens de Vortigern começaram a retirar-se imediatamente. Mas... se você acabou de chegar do norte, certamente os encontrou?
— Duas companhias, esta manhã. Mas vimo-los a tempo e saímos da estrada. Encontramos a escolta de minha mãe no dia anterior, na encruzilhada.
— Encontraram? — Ele parecia surpreso. — Mas se sabiam que Vortigern o queria morto...
— Sabiam que eu não tinha nada que vir para o sul e me teriam matado. Exatamente. Assim, ao invés, matamo-los nós. Oh, não olhe assim para mim — não foram artes de magia, apenas artes.
a soldado. Encontramos alguns galeses que seguiam ao encontro de Ambrosius e emboscamos a tropa de Vortigern, liquidando-a toda. _ Os galeses já sabiam? A profecia, não foi? — Vi-lhe o branco dos olhos no escuro. — Ouvi falar nisso... a cidade estava fervilhando. As tropas nos contaram. Disseram que você mostrou-lhes uma espécie de lago sob o penhasco — foi naquele lugar que aramos anos atrás, e poderia jurar que não existia nenhum sinal de lago então — mas, que havia esse lago com dragões dentro, sob as fundações da torre. É verdade?
— Que lhes mostrei um lago, sim.
— Mas os dragões, o que eram? Respondi lentamente:
— Dragões. Uma coisa que produzi do nada para que eles vissem, já que sem vê-los não iriam escutar-me, e muito menos acreditar.
Fez-se um curto silêncio. Então ele disse com medo na voz:
— E foi a magia que lhe mostrou que Ambrosius vinha?
— Sim e não. — Sorri. — Eu sabia que ele vinha, mas não quando. Foi a magia que me disse que de fato já estava a caminho.
Olhava-me fixamente outra vez.
— Sabia que ele vinha? Então tinha notícias de Cornwall? Poderia ter-me dito.
— Por quê?
— Eu teria ido reunir-me a ele. Olhei-o por um momento, medindo-o.
— Ainda pode reunir-se a ele. Você e os outros amigos que combateram com Vortimer. E quanto ao irmão de Vortimer, Pascentius? Sabe onde se encontra? Ainda continua exaltado contra Vortigern?
— Sim, mas dizem que foi fazer paz com Hengist. Nunca se unirá a Ambrosius, quer a Bretanha para si.
— E você? — perguntei. — O que quer?
Ele respondeu muito simplesmente, e por uma vez sem nenhuma fanfarronice ou bravata.
— Quero um lugar que possa considerar meu. Este, se puder. É meu agora, afinal. Ele matou as crianças, você sabia?
— Não, mas pouco me surpreende. É um hábito dele. Fiz uma pausa. _ Olhe, Dinias, há muito o que conversar e tenho muito que contar-lhe. Mas primeiro tenho um favor a pedir-lhe.
— Qual é?
— Hospitalidade. Não há lugar algum a que eu queira ir enquanto não apronte o meu, e gostaria de ficar em casa do meu avô novamente.
Ele respondeu sem fingimento ou evasivas:
— Já não é o que foi.
Ri-me. Alguma coisa é? Enquanto houver um telhado contra essa chuva infernal e um fogo para secar nossas roupas e alguma coisa para comer, não importa o quê. O que diria se mandássemos Cadal arranjar provisões e comêssemos em casa? Contar-lhe-ei a coisa toda enquanto comemos uma torta regada a vinho. Mas previno-o de que, se ousar mostrar-me um par de dados, gritarei pelos homens de Vortigern eu mesmo.
Ele sorriu, descontraindo-se subitamente.
— Não tenha receio. Venha então. Há alguns quartos ainda habitáveis, e lhe arranjaremos uma cama.
Fiquei com o quarto de Camlach. Era ventoso e cheio de poeira e Cadal recusou-se a deixar-me usar as cobertas até que as tivesse estendido diante do fogo fragoroso por uma hora inteira. Dinias não tinha criado, a não ser uma rapariga que cuidava dele, aparentemente pelo privilégio de compartilhar da sua cama. Cadal mandou-a carregar combustível e esquentar água enquanto ele levava um recado à minha mãe no convento e, a seguir, ia à taverna buscar vinho e provisões.
Comemos diante da lareira com Cadal a nos servir. Conversamos até tarde, mas aqui é suficiente dizer que contei a Dinias minha história — ou melhor, as partes que ele poderia entender. Teria tido alguma satisfação pessoal em contar-lhe os fatos da minha paternidade, mas enquanto não estivesse seguro e soubesse que os arredores da cidade estavam livres dos homens de Vortigern, achei melhor nada dizer. Então, contei-lhe apenas como tinha chegado à Bretanha e me tornara um homem de Ambrosius. Dinias já ouvira o suficiente sobre a minha profecia na caverna do Forte do Rei para acreditar implicitamente na vitória próxima de Ambrosius, de modo que nossa conversa terminou com a sua promessa de viajar de manhã para oeste com as notícias e aliciar o apoio que pudesse na periferia de Gales. Eu sabia que ele teria receio de quebrar sua promessa; o que quer que os soldados tivessem dito sobre os acontecimentos do Forte do Rei, estes eram suficientes para inspirar no meu primo Dinias, simples como era, o mais profundo respeito pelos meus poderes. Mas, mesmo sem isso, eu sabia que nesse ponto podia confiar nele. Falamos até quase o alvorecer, então dei-lhe dinheiro e desejei-lhe boa noite.
(Ele já partira quando acordei na manhã seguinte. Manteve palavra e reuniu-se a Ambrosius mais tarde, em York, com algumas centenas de homens. Foi recebido com honras e portou-se bem, mas logo depois, numa pequena batalha, recebeu ferimentos em conseqüência dos quais veio a falecer mais tarde).
Cadal fechou a porta atrás de si.
— Ao menos tem um bom trinco e uma tranca robusta.
— Está com medo de Dinias? — perguntei.
— Estou com medo de todo o mundo nesta maldita cidade. Não ficarei satisfeito enquanto não terminarmos e voltarmos para Ambrosius.
— Duvido de que precise preocupar-se agora. Os homens de Vortigern já partiram. Você ouviu o que Dinias disse.
— É, e ouvi o que você disse também. — Curvara-se para apanhar os cobertores junto ao fogo e parou com os braços carregados olhando para mim. — A que se referia quando falou que está preparando seu lugar aqui? Não está pensando em montar jamais uma casa aqui?
— Não, uma casa não.
— Aquela gruta? Sorri da expressão.
— Quando Ambrosius terminar comigo e o país estiver tranqüilo, é para onde pretendo ir. Eu não lhe disse que, se continuasse comigo, iria viver longe da sua terra?
— Falávamos de morrer, pelo que me lembro. Você quer dizer, viver aqui?
— Não sei — disse eu. — Talvez não. Mas creio que precisarei de um lugar onde possa estar só, longe, apartado das coisas que acontecem. Pensar e planejar é um lado da vida; fazer é outro. Um homem não pode estar executando o tempo todo.
— Diga isso a Uther.
— Não sou Uther.
— Bem, os dois tipos são necessários, como dizem. — Largou os cobertores na cama. — De que está rindo?
— Estava? Não importa. Vamos para a cama, precisamos estar cedo no convento. Teve que subornar a velha outra vez?
— Velha nada. — Aprumou-se. — Era uma moça desta vez. E formosa também, pelo que consegui ver apesar daquele vestido de saco e o capuz na cabeça. Quem quer que ponha uma moça daquelas num convento merece ... — Ele começou a explicar o que merecia, mas encurtei a conversa.
— Descobriu como estava minha mãe?
— Disseram que estava melhor. A febre desapareceu, mas não sossegará enquanto não o vir. Vai contar-lhe tudo agora?
— Vou.
— E então?
— Reunimo-nos a Ambrosius.
— Ah! — disse ele e, quando acabou de arrastar o colchão para deitar-se atravessado à porta, apagou a lâmpada e dormiu sem mais uma palavra.
Minha cama era bastante confortável e o quarto, negligenciado ou não, era um luxo depois de uma viagem. Mas dormi mal. Em imaginação eu estava na estrada com Ambrosius, rumando para Doward. Do que ouvira de Doward, conquistá-la não seria tarefa fácil. Comecei a pensar se afinal teria prestado um desserviço ao meu pai ao fazer sair o Suserano da segurança de Snowdon. Deveria tê-lo deixado lá, pensei, com a sua torre podre e Ambrosius o faria recuar até o mar.
Foi com esforço e quase surpresa que me lembrei da profecia. O que eu fizera em Dinias Brenin não fora por vontade própria. Não tinha sido eu quem decidira mandar Vortigern correndo para fora de Gales. Das trevas, das florestas e das estrelas rodopiantes, ordenaram-me. O Dragão Vermelho triunfaria e o Branco cairia. A voz que assim o dissera, e assim o dizia agora na escuridão abafada do quarto de Camlach, não era a minha própria; era a do deus. Uma pessoa não ficava procurando razões; obedecia, e depois dormia.
Foi a moça que Cadal mencionara que abriu o portão do convento para nós. Devia estar à nossa espera, porque assim que Cadal ergueu a mão para puxar o sino o portão abriu-se e ela fez sinal para eu entrar. Tive a impressão fugaz de enormes olhos sob o capuz marrom e um corpo jovem e flexível amortalhado no hábito grosseiro, quando trancou o pesado portão e, puxando o capuz para mais junto do rosto e do cabelo, nos conduziu rapidamente pelo pátio. Os pés nus em sandálias de lona pareciam frios e salpicados da lama do pátio cheio de poças, mas eram finos e bem formados e as mãos bonitas. Ela não falou, mas guiou-nos pelo pátio, por uma passagem estreita entre dois prédios até um quadrado maior, mais adiante. Contra as paredes havia árvores frutíferas e algumas flores, mas estas eram na sua maioria ervas e flores silvestres e as portas das celas, que se encontravam abertas para o pátio, não tinham pintura e mostravam quartos pequenos e vazios, onde a simplicidade se tornara feiúra e muito freqüentemente miséria.
Isto não ocorria na cela de minha mãe. Ela estava instalada com o conforto necessário, ainda que não real. Tinham-lhe permitido trazer a própria mobília: o quarto era caiado e imaculadamente limpo e, com a mudança do tempo em abril, o sol surgira e brilhava diretamente pela janela estreita sobre sua cama. Lembrava-me da mobília: era a cama que usava em casa, e a cortina na janela, de pano vermelho com desenhos verdes, era a que estivera a tecer no dia em que meu tio Camlach voltara para casa. Lembrava-me também da pele de lobo no chão; meu avô matara o animal com as próprias mãos e o punho da adaga quebrara; os olhos de contas e aquele esgar haviam-me aterrorizado quando era pequeno. A cruz que pendia da parede nua ao pé da cama era de prata fosca com um lindo desenho de linhas entrelaçadas, mas fluidas, e engastada de ametistas que refletiam a luz.
A moça indicou-me a porta em silêncio e retirou-se. Cadal sentou-se no banco do lado de fora para esperar.
Minha mãe encontrava-se recostada nos travesseiros sob o raio de sol. Parecia pálida e cansada e sua voz não era mais que um murmúrio, mas estava, disse-me ela, melhor. Quando lhe perguntei sobre a doença e levei a mão à sua têmpora, ela afastou-a sorrindo e lembrou-me que estava bastante bem cuidada. Não insisti; metade da cura é a confiança do paciente e nenhuma mulher jamais pensou que o próprio filho é mais do que uma criança. Além disso, eu. podia ver que a febre desaparecera e, agora que já não estava ansiosa por minha causa, poderia dormir.
Então, simplesmente, puxei para perto a única cadeira do quarto sentei-me e comecei a contar-lhe tudo o que ela queria saber sem esperar pelas perguntas sobre a minha saída de Maridunum e a fuga como uma flecha do arco do deus, diretamente da Bretanha até os pés de Ambrosius e tudo o que acontecera desde então. Ela deitara-se nos travesseiros e observava-me com espanto e uma emoção que crescia lentamente, que eu identifiquei como a emoção que um pássaro de gaiola sentiria se o tivessem posto a chocar um ovo de falcão.
Quando terminei, estava cansada e havia olheiras cinzentas sob seus olhos, tão marcadas, que me ergui para sair. Mas ela parecia satisfeita e disse como se fosse a conclusão da história:
— Ele o reconheceu.
— Sim. Chamam-me Merlinus Ambrosius.
Ela ficou silenciosa um momento, sorrindo para si mesma. Atravessei o quarto até a janela e recostei os cotovelos no peitoril, olhando para fora. O sol estava quente. Cadal cabeceava sentado no banco, meio adormecido. Do outro lado do pátio, um movimento atraiu-me a atenção; num portal sombreado a moça olhava para a porta do quarto de minha mãe como se estivesse à espera da minha saída. Afastara o capuz e mesmo na penumbra eu distinguia o ouro dos seus cabelos e um rosto jovem, lindo como uma flor. Percebeu então que eu a observava. Talvez por dois minutos nossos olhos se encontraram. Compreendi por que os antigos armavam com flechas seu deus mais cruel; senti um choque por todo o corpo. E ela partiu, desaparecendo nas sombras, o capuz vestido outra vez, enquanto atrás de mim minha mãe dizia:
— E agora? O que acontecerá?
Dei as costas ao sol.
— Vou reunir-me a ele. Mas não enquanto a senhora não melhorar. Quando partir, quero levar notícias suas.
Ela pareceu ansiosa.
— Não deve permanecer aqui. Maridunum não é seguro para você.
— Acho que é. Desde que chegaram as novas do desembarque, o lugar esvaziou-se dos homens de Vortigern. Tivemos que tomar a trilha das montanhas a caminho do sul; a estrada parecia viva,!tos eram os homens que iam juntar-se a ele.
— É verdade, mas...
— E não andarei por aí, prometo-lhe. Tive sorte a noite passada, encontrei Dinias assim que pus os pés na cidade. Ele me cedeu um quarto em casa.
— Dinias?
Ri-me do seu espanto.
— Dinias acha que me deve alguma coisa, não importa o quê, mas tivemos um bom entendimento ontem à noite.
Contei-lhe qual a missão em que o enviara e ela assentiu.
— Ele — e eu sabia que não se referia a Dinias — vai precisar de todo homem que possa segurar uma espada. — Franziu as sobrancelhas. — Dizem que Hengist tem trezentos mil homens. Será que ele — e mais uma vez não se referia a Hengist — será capaz de resistir a Vortigern e depois a Hengist e os saxões?
Suponho que eu ainda estivesse pensando na vigília da noite anterior. Disse, sem parar para considerar o efeito:
— Se eu o disse, deve ser verdadeiro.
Um movimento na cama atraiu o meu olhar. Ela persignava-se, os olhos ao mesmo tempo assustados e severos, e acima de tudo amedrontados.
— Merlin... — mas ao dizer isso a tosse sacudiu-a, de modo que quando conseguiu falar outra vez era apenas um sussurro rouco: - Cuidado com a arrogância. Mesmo que Deus lhe tenha dado o poder...
Pousei a mão no seu pulso, interrompendo-a.
— Compreendeu-me mal, senhora. Expressei-me mal. Só quis dizer que o deus o disse através de mim e, porque ele o disse, deve ser verdade. Ambrosius deve vencer, está nos astros.
Ela concordou e vi o alívio passar pelo seu rosto descontraindo-lhe o corpo e o espírito qual uma criança exausta.
Disse eu, gentilmente:
— Não tema por mim, mãe. Qualquer que seja o uso que Deus aça de mim, estou satisfeito em ser sua voz e seu instrumento. Vou aonde me ordena. E, quando ele tiver terminado, me levará de volta.
— Há apenas um Deus — murmurou ela.
Sorri para ela.
— É o que estou começando a pensar. Agora vá dormir. Voltarei pela manhã.
Fui ver minha mãe novamente na manhã seguinte. Desta vez fui só. Mandara Cadal ao mercado comprar provisões, e a rapariga de Dinias desaparecera à sua partida, deixando que nos arranjássemos no palácio deserto. Fui recompensado, pois a moça estava de serviço no portão e mais uma vez conduziu-me ao quarto de minha mãe. Mas, quando lhe disse alguma coisa, ela apenas puxou o capuz mais para junto sem falar, e assim não consegui ver mais que as mãos e os pés delicados. As pedras estavam secas hoje, e as poças haviam desaparecido. Ela lavara os pés e no aperto das sandálias grosseiras eles pareciam frágeis como flores de veios azuis na cesta de uma camponesa. Ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo, a mente trabalhando como a de um cantor quando não tinha nem mesmo o direito de estar trabalhando. A flecha ainda zumbia onde me atingira e todo o meu corpo parecia vibrar e retesar-se à vista dela.
Indicou-me a porta, como se eu pudesse tê-la esquecido e retirou-se para esperar.
Minha mãe parecia um pouco melhor e descansara bem, disse-me. Conversamos por algum tempo; ela fez perguntas sobre detalhes da minha história e completei-os para ela. Quando me ergui para sair, perguntei, tão casualmente quanto pude:
— A moça que abriu a porta é certamente jovem para estar aqui. Quem é?
— A mãe trabalhava no palácio. Keridwen. Lembra-se dela? Sacudi a cabeça.
— Deveria?
— Não.
Mas quando lhe perguntei por que sorria, ela não quis dizer e, à vista do seu divertimento, não ousei perguntar mais nada.
No terceiro dia era a velha porteira surda; e passei toda a entrevista com minha mãe a imaginar se ela teria percebido (como fazem as mulheres), através do meu ar indiferente, o que havia por baixo da superfície e passado ordem para que a moça fosse mantida fora do meu caminho. Mas no quarto dia ela estava lá e desta vez eu soube, antes de dar três passos para o interior do pátio, que estivera ouvindo as histórias de Dinias Brenin. Estava tão ansiosa para dar uma olhada no mago que deixou cair um pouco o capuz. Vi-lhe os lhos enormes, azuis, cheios de uma espécie de curiosidade perplexa de admiração. Quando sorri e lhe disse alguma coisa à guisa de cumprimento, ela meteu-se de volta no capuz, mas desta vez respondeu-me. Sua voz era leve e fina, uma voz de criança, e chamou-me de my lord como se realmente assim me considerasse. — Qual é o seu nome? — perguntei-lhe.
— Keri, my lord.
Retardei-me para detê-la.
— Como está minha mãe hoje, Keri?
Mas ela não quis responder, apenas me levou diretamente para o pátio interno e me deixou lá.
Aquela noite fiquei acordado novamente, mas nenhum deus me falou, nem mesmo para dizer-me que ela não era para mim. Os deuses não nos visitam para lembrar-nos o que já sabemos.
No último dia de abril, minha mãe estava tão melhor que, quando fui visitá-la, encontrei-a numa cadeira junto à janela usando um robe de lã sobre a camisola, sentada em pleno sol. O marmeleiro preso à parede de fora estava pejado de cálices róseos onde as abelhas zumbiam, e no peitoril um casal de pombos arrulhava e andava empertigado de um lado para o outro.
— Tem notícias? — perguntou ela, assim que me viu.
— Um mensageiro chegou hoje. Vortigern morreu e a Rainha com ele. Dizem que Hengist se dirige para o sul com uma enorme força, incluindo o irmão de Vortimer, Pascentius, e o que resta do seu exército. Ambrosius já está a caminho para encontrá-los.
Ela estava sentada muito aprumada, olhando não para mim, mas para a parede além. Uma mulher fazia-lhe companhia hoje, num banquinho do outro lado da cama. Era uma das freiras que a seguira a Dinias Brenin. Via-a fazer o sinal da cruz no peito, mas Niniane continuou imóvel, os olhos perdidos na distância, pensando.
— Conte-me então.
Contei-lhe tudo o que ouvira do caso de Doward. A mulher persignou-se outra vez, mas minha mãe nem se moveu. Quando terminei, seus olhos voltaram-se para mim.
— E você vai partir agora?
— Sim. Quer mandar algum recado para ele?
— Quando eu o vir outra vez — disse ela — ainda estará em tempo.
Quando me despedi, ela continuava sentada, fitando alguma coisa distante no lugar e no tempo, para além das ametistas que piscavam na parede.
Keri não estava esperando e retardei-me um pouco antes de cruzar o pátio externo, lentamente, na direção do portão. Vi-a então, oculta na sombra escura do arco do portão e apressei o passo. Revolvia na mente um milhão de coisas para dizer, todas igualmente inúteis para prolongar o que não poderia ser prolongado, mas não houve necessidade. Ela estendeu uma daquelas mãos lindas e tocou-me a manga suplicante.
— My lord.
Seu capuz estava meio caído para trás e vi lágrimas nos seus olhos. Então eu lhe disse bruscamente:
— O que tem? — Creio que por um momento de loucura pensei que chorasse porque eu partia. — Keri, o que é?
— Tenho dor de dentes.
Fiquei boquiaberto. Devo ter parecido tão tolo como se tivesse acabado de ser esbofeteado no rosto.
— Aqui — disse ela, levando a mão à face. O capuz caiu todo para trás. — Vem doendo há dias. Por favor, my lord...
Disse-lhe, rouco:
— Não sou tiradentes.
— Mas se ao menos o tocasse...
— Nem mago — comecei a dizer, mas ela aproximou-se de mim e a voz estrangulou-se-me na garganta. Cheirava a madressilva. O cabelo era louro como cevada e os olhos cinzentos como campainhas azuis antes de desabrocharem. Antes que desse por mim, ela tomara minha mão entre as dela e a levava ao rosto.
Enrijeci parcialmente para retirá-la, então me controlei e abri a mão suavemente, passando-a pelo seu rosto. Os grandes olhos azuis pareciam inocentes como o céu. Ao curvar-se para mim, a gola do vestido pendeu frouxa para a frente e vi-lhe os seios. A pele era macia como água e senti seu hálito doce junto ao meu rosto.
Retirei a mão bastante gentilmente e afastei-me.
— Não posso fazer nada.
Suponho que minha voz tinha saído áspera. Ela baixou as pálpebras e cruzou as mãos humildemente. Seus cílios eram curtos, espessos e dourados como o seu cabelo. Tinha uma covinha pequenina nó canto da boca. Eu lhe disse:
— Se não melhorar até amanhã, mande arrancar.
— Já está melhor, my lord. Parou de doer assim que o senhor me tocou.
Sua voz estava cheia de admiração e a mão escorregou para a face onde a minha estivera. O movimento era como uma carícia e senti o sangue saltar em batidas que pareciam pontadas. Com um movimento súbito ela procurou minha mão e timidamente curvou-se para a frente, comprimindo-a com os lábios.
Então a porta ao meu lado girou abrindo-se, e eu me encontrei do lado de fora, na rua deserta.
Pelo que o mensageiro me contara, parecia que Ambrosius acertara na decisão de pôr termo a Vortigern antes de voltar-se contra os saxões. A tomada de Doward e a selvageria com que a efetuara produzira efeito. Aqueles entre os invasores saxões que se tinham aventurado mais para o interior começaram a retirar-se para o norte, em direção às terras sujeitas a controvérsia, que sempre haviam fornecido uma cabeça-de-ponte para invasões. Pararam ao norte do Humber para fortificarem-se onde podiam, e esperar por ele. A princípio, Hengist acreditou que Ambrosius tinha sob seu comando pouco mais que o exército invasor bretão — e ele não conhecia aquela arma mortal de guerra. Pensava (conforme relatos) que muito poucos dos bretões ilhéus se tinham juntado a Ambrosius; de qualquer modo, os saxões haviam derrotado os britânicos, com suas pequenas forças tribais, tão freqüentemente, que ele os desprezava como presas fáceis. Mas, agora, quando chegaram ao líder saxão notícias dos mil que haviam debandado para o Dragão Vermelho, e do sucesso de Doward, ele decidiu não mais permanecer entrincheirado ao norte do Humber, e sim marchar rapidamente de volta ao sul para defrontar-se com os britânicos em lugar de sua própria escolha, onde pudesse surpreender Ambrosius e destruir-lhe o exército.
Mais uma vez Ambrosius se deslocou com a "Velocidade de César". Isto era necessário porque os saxões, ao se retirarem, deixavam os lugares devastados.
O fim chegou na segunda semana de maio — uma semana quente de sol que parecia ter saído de junho, interrompida pelos aguaceiros que haviam sobrado de abril, uma semana tomada de empréstimo e, para os saxões, uma dívida cobrada pelo destino. Hengist, com os preparativos ainda a meio, foi surpreendido por Ambrosius em Maesbeli, perto do Forte Conan ou Kaerconan, as vezes chamado de Conisburgh. É um local montanhoso, com um forte no alto do penhasco e uma ravina profunda embaixo. Ali os saxões tentavam preparar uma emboscada para as forças de Ambrosius, mas os batedores deste tiveram notícia disso por intermédio de um bretão que encontraram escondido numa gruta do morro, para onde fugira com a intenção de ocultar a mulher e dois filhos pequenos dos machados dos nórdicos. Assim prevenido, Ambrosius aumentou a velocidade de sua marcha e alcançou Hengist antes que a emboscada estivesse completamente pronta, forçando-o a uma luta aberta.
A tentativa de Hengist de preparar uma emboscada voltara a sorte contra si mesmo. Ambrosius tinha a vantagem do terreno onde parou e distribuiu seu exército. Sua principal força, bretões, gauleses e britânicos ilhéus do sul e do sudoeste, aguardava numa colina suave diante de um terreno nivelado de onde poderia atacar sem obstáculos. Misturados entre essas tropas, encontravam-se outros britânicos nativos, que se haviam reunido a ele com seus líderes. Por trás desse corpo principal, o terreno ondulava numa subida suave, quebrada apenas por moitas de espinheiros e tojos amarelos, até uma crista comprida que se curvava para oeste numa série de colinas rochosas, e no leste era densamente arborizado com carvalhos. Os homens de Gales — montanheses — foram especialmente distribuídos pelos lados; os galeses do norte na floresta de carvalhos e separados dos primeiros pelo corpo completo do exército de Ambrosius, e os galeses do sul nas montanhas para oeste. Essas forças, dotadas de armamento ligeiro, altamente móveis e com contas a acertar, deveriam manter-se de sobreaviso como reforços, para golpes rápidos que poderiam ser dirigidos durante a batalha aos pontos mais fracos da defesa inimiga. Poder-se-ia contar com eles, também, para apanhar e liquidar qualquer dos saxões de Hengist que rompesse as linhas e fugisse do campo.
Os saxões, apanhados na própria armadilha, com essa imensa força à frente, e às costas o rochedo de Kaerconan e o estreito desfiladeiro onde haviam planejado emboscar-se, lutaram como demônios. Mas estavam em desvantagem: haviam começado com medo — receosos da reputação de Ambrosius, da sua vitória recente e selvagem em Doward e, mais que isso, da minha profecia a Vortigern que se espalhara de boca em boca mais rapidamente que o incêndio da torre de Doward, segundo me contaram. E, naturalmente, os prognósticos eram válidos em reverso para Ambrosius. A batalha foi travada pouco antes do meio-dia e ao pôr do sol já terminara.
Vi tudo. Foi a minha primeira grande batalha, e não me envergonho de dizer que praticamente a última. As minhas batalhas não eram travadas com espada e lança. Se vamos a isso, eu já ajudara i vitória de Kaerconan antes mesmo de chegar; e quando cheguei foi para encontrar-me desempenhando exatamente aquele papel que Uther uma vez determinara para mim de brincadeira.
Eu cavalgara com Cadal até Caerleon, onde encontramos u pequeno corpo das tropas de Ambrosius de posse da fortaleza outro a caminho de tomar e reparar o forte de Maridunum. j; também, disse-me o oficial confidencialmente, para assegurar que a comunidade cristã — toda a comunidade, acrescentou solene com a sombra de uma piscadela para mim, tal era a piedade do comandante — estivesse a salvo.
Acrescentou ainda que lhe fora ordenado que enviasse alguns dos seus homens de volta comigo para escoltar-me até Ambrosius. Meu pai lembrara-se mesmo de enviar-me algumas roupas. Então mandei Cadal regressar, para seu desgosto, ajeitar como pudesse gruta de Galapas e esperar lá por mim, e prossegui para noroeste com a escolta.
Encontramos o exército fora de Kaerconan. As tropas já estavam desdobradas para a batalha e não havia possibilidade de ver o comandante. Então retiramo-nos, de acordo com as instruções, para a colina oeste, onde os homens das tribos de Gales do Sul entreolhavam-se desconfiados sobre as espadas prontas para os saxões abaixo. Os soldados da minha escolta olhavam-me mais ou menos da mesma maneira; não tinham perturbado o meu silêncio durante o trajeto è era patente que sentiam uma espécie de admiração não apenas pelo filho reconhecido de Ambrosius, mas pelo profeta de Vortigern — um título que já pegara e que levaria alguns anos para perder. Quando me apresentei ao oficial encarregado e lhe pedi que determinasse um lugar na sua tropa, ele, horrorizado, suplicou-me muito seriamente que me mantivesse fora da luta e procurasse um local de onde os homens pudessem ver-me e saber, conforme sua expressão, "que o profeta estava ali com eles". No fim, fiz o que pedia e retirei-me para o alto de um penhasco rochoso de onde, envolvendo-me na capa, me preparei para observar o campo de batalha que se abria abaixo como um mapa móvel.
O próprio Ambrosius estava no centro. Eu distinguia seu cavalo branco com o estandarte do Dragão Vermelho a refulgir. Para a direita, a capa azul de Uther faiscava ao galope do cavalo ao longo das linhas. Não reconheci de pronto o líder da ala esquerda: um cavalo cinzento, uma figura grande e corpulenta, um estandarte com alguma coisa em branco que não consegui a princípio discernir. Depois vi o que era: um javali. O javali de Cornwall. O comandante da ala esquerda de Ambrosius não era outro senão o barba-grisalha Gorlois, senhor de Tintagel.
Nada podia ser entendido da ordem em que se haviam agrupado os saxões. Toda a minha vida ouvira falar da ferocidade daqueles gigantes louros, e todas as crianças britânicas eram nutridas desde pequeninas com as histórias do seu terror. Enlouqueciam na guerra, diziam, e podiam lutar sangrando de doze ferimentos sem aparente perda de força na sua selvageria. E o que possuíam em força e crueldade faltava-lhes em disciplina. Parecia realmente ser assim. Não havia ordem na grande onda de metal reluzente e crinas de cavalo perpetuamente em movimento, como uma inundação à espera de que o dique se rompesse.
Mesmo àquela distância consegui encontrar Hengist e seu irmão, gigantes com longos bigodes caindo-lhes pelo peito e o cabelo comprido esvoaçando ao esporearem seus cavalos fortes e peludos para cima e para baixo das fileiras. Gritavam, e o eco dos seus gritos podia ser ouvido claramente: orações aos deuses, juras, exortações, ordens que subiam num crescendo feroz até que ao último grito selvagem de "Matar, Matar, Matar!" as machadinhas ergueram-se, brilhando ao sol de maio, e a matilha avançou para as linhas organizadas do exército de Ambrosius.
As duas hostes encontraram-se com um impacto que fez as gralhas voarem do Kaerconan aos guinchos, e parecia fender o próprio ar. Era impossível, mesmo da minha posição favorável, ver para que lado pendia a luta, ou melhor, os diversos movimentos da luta. Por um momento parecia que os saxões com suas machadinhas e elmos alados abriam caminho nas hostes britânicas; no momento seguinte via-se um grupo de saxões cercado por um mar de britânicos e, aparentemente engolfado, desaparecer. O bloco central de Ambrosius aparou o primeiro impacto da carga, então a cavalaria de Uther surgiu do leste com um rápido movimento envolvente. Os homens de Cornwall sob Gorlois recuaram a princípio, mas assim que a linha de frente dos saxões começou a fraquejar, entraram com um golpe de martelo da esquerda, esmagando-a. Depois disso, o campo tornou-se um caos. Por toda a parte, homens lutavam em pequenos grupos ou mesmo isolados, corpo a corpo. O barulho, o choque das armas, os gritos, e mesmo o cheiro de suor e sangue misturados, pareciam alcançar-me na posição elevada em que me encontrava sentado, observando, envolto na capa. Imediatamente abaixo de mim, tomei consciência da agitação e do murmúrio dos galeses e da exclamação súbita quando a tropa de saxões rompeu as fileiras e galopou em nossa direção. Num segundo, o topo da colina ficou deserto, à exceção de mim, só que o clamor parecia ter chegado mais perto em torno do sopé da colina como uma maré que subisse veloz. Um tordo pousou num espinheiro ao meu lado e começou a cantar: o som saía alto, doce e indiferente ao estrondo da batalha. Até hoje, sempre que penso na batalha de Kaerconan, vem-me à lembrança o canto do tordo misturado ao crocitar dos corvos que já circulavam no alto; dizem que eles ouvem o choque das espadas a dez milhas de distância.
Tudo terminou ao pôr do sol. Eldol, Duque de Gloucester arrancou Hengist do cavalo sob as próprias muralhas de Kaerconan para as quais se voltara na fuga, e os restantes saxões debandaram e correram; alguns escaparam, mas muitos foram mortos no estreito desfiladeiro ao pé do Kaerconan. À chegada do crepúsculo, os archotes foram acesos à porta da fortaleza, as portas escancaradas e o cavalo branco de Ambrosius atravessou a ponte, entrando na cidadela, deixando o campo para os corvos, os sacerdotes e as equipes de enterro.
Não o procurei imediatamente. Deixei-o enterrar os mortos e limpar a fortaleza. Havia trabalho para mim entre os feridos e, além disso, já não havia pressa em dar-lhe o recado de minha mãe. Sentado ali ao sol de maio, entre o canto do tordo e o clamor da batalha, eu sabia que ela adoecera outra vez, e já estava morta.
Desci a colina por entre as moitas de tojos e espinheiros. As tropas galesas. haviam desaparecido completamente há muito, e exclamações isoladas e gritos de batalha indicavam onde pequenos grupos ainda perseguiam os fugitivos pela floresta e pela colina.
Abaixo, na planície, a luta terminara. Os feridos estavam sendo levados para Kaerconan. Archotes tremeluziam por toda parte até que a planície se tornou toda luzes e fumaça. Homens falavam alto uns com os outros, e os gritos e gemidos dos feridos erguiam-se claros, entre o relincho ocasional de um cavalo, as ordens imperiosas dos oficiais e o ruído dos passos dos padioleiros. Aqui e ali, nos trechos escuros mais distantes dos archotes, homens corriam isolados ou aos pares entre os corpos amontoados. Abaixavam-se, endireitavam-se e corriam novamente. Às vezes, onde paravam, ouvia-se um grito, um gemido súbito; outras, o brilho momentâneo do metal e um golpe rápido para baixo. Saqueadores revistavam os mortos e moribundos, mantendo-se alguns passos adiante dos grupos oficiais de socorro. Os corvos desciam. Vi a inclinação e o planeio das suas asas pretas acima dos archotes, e um par encarapitara-se à espera numa rocha não longe de mim. Com o cair da noite os ratos também sairiam das raízes úmidas das paredes do castelo para atacar os mortos.
A tarefa de socorrer os feridos estava sendo executada tão rápida e eficientemente como tudo o que fazia o exército do Conde. Uma vez transportados para o interior, os portões seriam fechados. Eu o procuraria, decidi, depois que as primeiras tarefas estivessem terminadas. Já teria sido informado de que eu estava ali a salvo; imaginaria que eu teria ido trabalhar com os médicos. Haveria tempo, mais tarde, para comer, e depois tempo bastante para conversarmos.
Ao atravessar o campo, as turmas de padioleiros ainda tentavam separar os amigos dos inimigos. Os saxões mortos tinham sido atirados para um monte ao centro; imaginei que seriam queimados conforme o costume. Junto à pilha crescente de corpos, uma patrulha montava guarda a um monte de armas e ornamentos reluzentes retirados dos mortos. Os britânicos eram colocados próximo à muralha, em fileiras, para serem identificados. Pequenos grupos de homens, cada um com um oficial, curvavam-se sobre cada corpo Ao abrir caminho pela lama revolvida, oleosa e fedorenta de sangue e lodo, passei entre os cadáveres de olhos abertos, pelos corpos de meia dúzia de homens maltrapilhos — camponeses ou fora-da-lei pelo aspecto. Deveriam ser saqueadores, mortos pelos soldados. Um deles ainda se contorcia como uma mariposa pregada, derrubado às pressas por uma lança saxônica partida, abandonada no seu corpo. Olhava-me — já não falava — e vi que ainda nutria esperanças. Se tivesse sido vazado por uma lança inteira, eu a teria retirado do seu corpo e deixaria que ele se esvaísse, mas, como estava, havia um meio mais rápido. Desembainhei minha adaga, afastei a capa para o lado e, cuidadosamente, para ficar fora do caminho do jato de sangue, meti-lhe a adaga do lado do pescoço. Limpei-a nos seus trapos e endireitei-me para encontrar um par de olhos frios a me fitarem, acima de uma espada curta apontada para mim, a três passos de distância.
Felizmente era um homem que eu conhecia. Percebi quando, reconhecendo-me, riu e baixou a espada.
— Tem sorte. Quase o matei pelas costas.
— Não pensei nisso. — Devolvi a adaga à bainha. — Teria sido uma pena ser morto por roubar isso. O que achou que ele teria que valesse a pena tirar?
— Ficaria surpreso com o que nós os apanhamos a tirar. Tudo desde um emplastro de milho até uma tira de sandália partida.
— Inclinou a cabeça na direção das altas muralhas da fortaleza. — Ele esteve perguntando onde andava.
— Estou a caminho.
— Dizem que previu isso, Merlin? E Doward também?
— Falei que o Dragão Vermelho venceria o Branco. Mas acho que isto ainda não é o fim. O que aconteceu a Hengist?
— Acolá. — Acenou outra vez a cabeça na direção da cidadela.
— Correu para o forte quando as linhas saxônicas foram rompidas e foi capturado junto ao portão.
— Vi isso. Está lá dentro então? Vivo?
— Está.
— E Octa, seu filho?
— Fugiu. Ele e o primo, Eosa, não é? Galoparam para o norte.
— Então não é o fim. Ele mandou alguém atrás deles?
— Ainda não. Diz que há bastante tempo. — Olhou para mim.
— Há?
— Como iria saber? — Não poderia dizer. — Quanto tempo ele pretende ficar aqui? Alguns dias?
— Três, diz ele. Tempo para enterrar os mortos.
— O que fará com Hengist?
— O que acha? — Fez um movimento cortante para baixo com o lado da mão. — E com bastante atraso, se me perguntar. Estão discutindo lá dentro, mas mal se poderia chamar aquilo de julgamento. O Conde ainda não disse nada, mas Uther está bradando que o matem, e os sacerdotes querem um pouco de sangue frio para completar o dia. Bem, tenho que voltar ao trabalho e ver se apanho mais civis saqueando. — Acrescentou ao virar as costas: — Vimos o senhor no alto da colina durante a luta. As pessoas diziam que era um bom augúrio.
Ele foi-se. Um corvo mergulhou por trás dele, crocitando, e pousou no peito do homem que eu matara. Chamei um archoteiro para iluminar o resto do caminho e rumei para o portão principal da fortaleza.
Ainda estava a alguma distância da ponte quando um clarão de archotes ondulantes surgiu e no meio deles, amarrado e preso, o grande gigante louro que eu sabia ser o próprio Hengist. As tropas de Ambrosius formaram um quadrado e para o interior desse espaço arrastaram o líder saxão e devem tê-lo forçado a ajoelhar-se, pois a cabeça loura desapareceu por trás das fileiras cerradas de bretões. Vi Ambrosius então, atravessando a ponte, seguido de perto, pela esquerda por Uther, e pelo outro lado por um homem que eu não conhecia, em vestes de bispo cristão, ainda salpicadas de lama e sangue. Outros se aglomeravam atrás deles. O bispo falava exaltado ao ouvido de Ambrosius. O rosto de Ambrosius era uma máscara, a máscara fria e inexpressiva que eu conhecia tão bem. Ouvi-o dizer alguma coisa que parecia "Vós vereis, eles ficarão satisfeitos" — e a seguir uma outra coisa que fez com que o bispo finalmente se calasse.
Ambrosius dirigiu-se ao seu lugar. Vi-o acenar para um oficial. Ouviu-se uma ordem seguida de um apito e a pancada surda de um golpe. Um som, que mal poderia ser chamado de murmúrio, expressando a satisfação dos homens que observavam. A voz do bispo rouca de triunfo: — Que assim pereçam todos os inimigos pagãos do único Deus verdadeiro! Que o seu corpo seja lançado agora aos lobos e aos milhafres! — E então a voz de Ambrosius fria e calma: — Ele irá ter com os seus próprios deuses, rodeado do seu exército, na tradição do seu povo. — E para o oficial: — Mande-me avisar quando tudo estiver pronto e virei.
O bispo começou a falar outra vez, mas Ambrosius voltou-lhe as costas sem dar atenção e, com Uther e os outros capitães, atravessou a ponte de volta à Fortaleza. Segui-o. Lanças faiscavam ao serem abaixadas para barrar-me o caminho — o lugar estava guarnecido pelos bretões de Ambrosius. Então fui reconhecido e as lanças foram retiradas.
No interior da fortaleza havia um grande pátio quadrado, agora tomado por uma confusão esfuziante e ruidosa de homens e cavalos. Do lado oposto, um pequeno lance de escadas levava à porta do salão principal e à torre. A comitiva de Ambrosius subia os degraus, mas dobrei para um lado. Não havia necessidade de perguntar para onde haviam sido levados os feridos. Do lado leste do pátio um prédio de dois andares fora transformado em posto de socorros. Os sons que dali provinham serviram para guiar-me. Fui saudado com gratidão pelo médico encarregado, um homem chamado Gandar, que fora meu professor na Bretanha e, reconhecidamente, não tinha utilidade para padres e magos, mas necessitava muito de um outro par de mãos treinadas. Destacou para mim dois ordenanças, arranjou-me alguns instrumentos e uma caixa de ungüentos e remédios e literalmente empurrou-me para uma sala comprida, que era pouco mais que um telheiro, mas que agora continha cinqüenta homens feridos. Despi-me até a cintura e comecei a trabalhar.
Por volta da meia-noite o pior estava feito e as coisas sossegavam. Estava na extremidade da minha seção, quando uma ligeira agitação perto da estrada fez-me voltar a cabeça e vi Ambrosius, com Gandar e dois oficiais, entrarem silenciosamente e caminharem pelas fileiras dos feridos parando junto a cada homem para falar ou, com os mais gravemente feridos, para interrogar o médico em voz baixa.
Eu cozia um ferimento de coxa — estava limpo e iria sarar, mas era profundo e recortado e para alívio de todos, o homem desmaiara — quando o grupo me alcançou. Não ergui os olhos e Ambrosius esperou em silêncio até que eu terminasse e, apanhando as ataduras que o ordenança preparara, envolvesse o ferimento. Terminei e pus-me de pé na hora em que o ordenança surgia com uma tigela de água. Mergulhei as mãos e levantei a cabeça, encontrando Ambrosius a sorrir. Ainda trazia a armadura retalhada e suja, mas parecia bem disposto e alerta e pronto, se necessário, a iniciar outra batalha. Notei que os homens feridos o observavam como se pudessem extrair força só em vê-lo.
— My lord — disse eu.
Ele curvou-se sobre o homem inconsciente.
— Como está ele?
— Um ferimento superficial. Vai-se recuperar e viver para agradecer que não tenha sido alguns centímetros para a esquerda.
— Vejo que fez um bom trabalho. — Então, quando terminei de enxugar as mãos e dispensei o ordenança com uma palavra de agradecimento, Ambrosius estendeu a mão para mim. — E, agora, bem vindo. Creio que lhe devemos bastante, Merlin. Não me refiro a isso; e sim a Doward, e por hoje também. Pelo menos os homens pensam assim e, se os soldados chegam à conclusão de que alguma coisa lhes traz sorte, é porque traz mesmo. Bem, estou satisfeito de vê-lo são e salvo. Tem notícias para mim, creio.
— Sim — respondi inexpressivo, por causa dos homens que estavam conosco, mas vi o sorriso desaparecer do seu rosto. Ele hesitou, e disse em.voz baixa:
— Cavalheiros, dêem-nos licença.
Eles saíram. Ele e eu encaramo-nos por sobre o corpo do homem inconsciente. Perto, um soldado revirava-se e gemia, outro gritava e mordia os lábios. O lugar cheirava mal, a sangue, suor e doença.
— Quais são essas notícias?
— Referem-se a minha mãe.
Acho que ele já sabia o que eu lhe ia dizer. Falou lentamente c medindo as palavras como se cada uma carregasse consigo o peso que ele deveria sentir.
— Os homens que vieram com você... trouxeram notícias dela. Esteve doente mas recuperava-se, disseram-me, e em segurança, em Maridunum. Não era verdade?
— Era verdade quando saí de Maridunum. Se soubesse que a doença era mortal, não a teria deixado.
— Era mortal?
— Sim, my lord.
Ele ficou silencioso, de olhos baixos, olhando para o homem ferido mas sem vê-lo. Este último começava a mexer-se; logo voltaria a si com a dor e o mau cheiro, e o medo da morte. Sugeri:
— Vamos sair para o ar fresco? Terminei aqui. Mandarei alguém cuidar desse homem.
— E precisa apanhar suas roupas. A noite está fria. — Então, ainda sem se mover: — Quando foi que ela morreu?
— Hoje, ao pôr do sol.
Ele voltou-se rápido ao ouvir isso, os olhos apertados e atentos, e então acenou a cabeça, aceitando o fato. Voltou-se para sair, fazendo-me sinal para que o acompanhasse. Ao sairmos, perguntou:
— Acha que ela sabia?
— Creio que sim.
— Não mandou nenhum recado?
— Não diretamente. Ela disse: "Quando nos encontrarmos novamente, haverá tempo bastante". Ela é cristã, lembre-se. Eles crêem...
— Sei o que crêem.
Uma agitação do lado de fora chegou-nos aos ouvidos, uma voz dando algumas ordens, pés marchando. Ambrosius parou para escutar. Alguém se dirigia rapidamente para nós.
— Falaremos mais tarde, Merlin. Tem muito o que me contar. Mas, primeiro, precisamos mandar o espírito de Hengist juntar-se aos seus antepassados. Venha.
Eles haviam colocado os saxões mortos numa grande pilha de madeira e derramado óleo e piche por cima. No alto da pirâmide, numa plataforma de pranchas toscamente pregadas, jazia Hengist. Como Ambrosius os impedira de o roubarem, nunca saberei, mas não fora roubado. O escudo encontrava-se sobre o seu peito e a espada na mão direita. Tinham escondido o pescoço cortado com um largo colar de couro do tipo que alguns soldados usam para proteger a garganta. Era ornado de ouro. Uma capa cobria-lhe o corpo do pescoço aos pés e as dobras purpúreas caíam sobre a madeira tosca.
Assim que os archotes foram atirados, as chamas subiram rápidas. Era uma noite parada e a fumaça erguia-se numa grande coluna escura rendilhada de fogo. As beiradas da capa de Hengist arderam, escureceram, dobraram-se, e ele desapareceu de vista no jato de fumaça e chamas. O fogo estalava como um chicote, e à medida que as toras queimavam e se partiam, os homens corriam, suados e negros, para atirar outras na fogueira. Mesmo de onde eu estava, bem afastado, o calor era intenso e o cheiro de piche queimado e carne assada invadia em rajadas enauseantes o ar úmido da noite. Para além do círculo iluminado dos homens que observavam, os archotes ainda se moviam no campo de batalha e podiam-se ouvir as pancadas ritmadas das pás cavando a terra para os mortos britânicos. Longe da pira brilhante, além das encostas escuras das montanhas, a lua de maio surgia pálida através da fumaça.
A voz de Ambrosius sobressaltou-me. Olhei-o surpreso.
— Vendo? — perguntei.
— No fogo, profeta Merlin.
— Nada, exceto homens mortos assando.
— Então olhe e veja alguma coisa para mim, Merlin. Para onde foi Octa?
Ri-me.
— Como iria saber? Disse-lhe tudo o que vi.
Mas ele não sorriu.
— Olhe com mais atenção. Diga-me para onde foi Octa. E Eosa. Onde vão esconder-se para esperar por mim. E quando.
— Já lhe expliquei uma vez. Eu não procuro ver as coisas. Se é a vontade do deus que venham a mim, elas surgem das chamas, ou da noite escura, e vêm silenciosas como uma flecha na emboscada. Não vou à procura do arqueiro; só me cabe esperar de peito aberto que a flecha me atinja.
— Então faça isso agora. — Falou veemente e teimoso. Vi que estava muito sério. — Você viu para Vortigern.
— O senhor chama isso "para" Vortigern? Profetizar a morte dele? Quando fiz aquilo, my lord, nem sabia o que estava dizendo. Suponho que Gorlois lhe tenha contado o que aconteceu — mesmo agora eu não saberia dizer-lhe. Nem sei quando vem, nem quando vai.
— Ainda hoje você soube de Niniane e sem fogo ou trevas.
— É verdade. Mas não sei dizer-lhe como, da mesma forma que não sabia o que disse a Vortigern.
— Chamam-lhe o profeta de Vortigern. Profetizou a nossa vitória e nós a tivemos aqui e em Doward. Os homens acreditam em você e têm fé em você. E eu também. Não seria um título melhor agora o de profeta de Ambrosius?
— My lord, sabe que eu receberia qualquer título que quisesse conferir-me. Mas isto vem de outra parte. Não posso provocá-lo, mas sei que, se for importante, virá. E, quando vier, esteja certo de que lhe direi. Sabe que estou ao seu serviço. Agora, quanto a Octa e Eosa, nada sei. Só posso especular, especular como homem. Ainda lutam sob o Dragão Branco, não lutam?
Seus olhos estreitaram-se.
— Sim.
— Então o que o profeta de Vortigern disse continua válido.
— Posso dizer isso aos homens?
— Se houver necessidade. Quando pretende marchar?
— Dentro de três dias.
— Em que direção?
— York.
Virei as palmas das mãos para cima.
— Então o seu palpite como comandante é, provavelmente, tão bom quanto o meu palpite com mago. Vai levar-me?
Ele sorriu:
— Terá alguma utilidade para mim?
— Não como profeta. Mas precisa de um engenheiro? Ou de um médico aprendiz? Ou mesmo de um cantor?
Ele riu.
— Uma multidão num só homem, eu sei. Contanto que não banque o padre para cima de mim, Merlin. Já estou farto deles.
— Não precisa recear.
As chamas morriam. O oficial encarregado da cerimônia aproximou-se, saudou-o e perguntou se os homens poderiam ser dispensados. Ambrosius deu-lhe permissão, e olhou para mim.
— Venha comigo para York, então. Terei trabalho para você lá. Trabalho de verdade. Dizem-me que metade do lugar está em ruínas, e precisarei de alguém para ajudar a dirigir os engenheiros. Tremorinus está em Caerleon. Agora procure Caius Valerius e diga-lhe para cuidar de você e trazê-lo à minha presença dentro de uma hora. — E acrescentou por cima do ombro ao afastar-se: — Entrementes, se alguma coisa surgir das trevas como uma flecha, você me avisará?
— A não ser que seja realmente uma flecha. Ele riu-se e partiu.
De repente Uther estava ao meu lado.
— Bem, Merlin, seu bastardo! Estão dizendo que você ganhou a batalha para nós do alto da colina! Notei com surpresa que não havia malícia no seu tom. Suas maneiras eram descontraídas, à vontade, quase alegres como as de um prisioneiro libertado. Suponho que realmente se sentisse assim, depois dos longos anos de frustração na Bretanha. Se o tivessem deixado proceder como entendesse, ter-se-ia lançado pelo Mar Estreito mal chegasse à idade adulta para ser valentemente cortado em pedaços por todo esse trabalho. Agora, como um falcão deixado voar à caça pela primeira vez, sentia o poder. Eu o sentia também; envolvia-o como asas dobradas. Respondi-lhe alguma coisa à guisa de saudação, mas ele interrompeu-me. — Viu alguma coisa nas chamas agora há pouco?
— Oh, não! Você também? — exclamei calorosamente. — O comandante parece pensar que basta-me olhar para um archote para predizer o futuro. Estive tentando explicar-lhe que não é assim que a coisa se passa.
_ Você me desaponta. Ia pedir-lhe para predizer o meu futuro. — Oh, Eros, isso é fácil. Dentro de uma hora, assim que tiver acomodado seus homens, estará na cama com uma moça.
_ Não é uma coisa tão certa assim. Com os diabos, como soube que consegui arranjar uma? Não há tantas em campo logo aqui... apenas um homem em cinqüenta conseguiu uma. Tive sorte.
_ Foi o que eu quis dizer — retorqui. Admitido que haja cinqüenta homens e apenas uma mulher entre eles, Uther fica com a mulher. É o que se poderia chamar uma das certezas da vida. Onde poderei encontrar Caius Valerius?
— Mandarei alguém para mostrar-lhe. Eu iria pessoalmente, mas estou querendo manter-me fora do caminho dele.
— Por quê?
— Quando tiramos a sorte, para saber quem ficava com a moça, ele perdeu — disse Uther, animado. — Terá bastante tempo para cuidar de você. Na verdade, toda a noite. Venha.
Entramos em York três dias antes do fim de maio. Os batedores de Ambrosius haviam confirmado o seu palpite sobre York; existia uma boa estrada para o norte saindo de Kaerconan, e Octa fugira pela mesma com o primo Eosa, refugiando-se na cidade fortificada que os romanos chamavam de Eboracum, e os saxões de Eoforwick, ou York. Mas as fortificações em York encontravam-se em mau estado e os habitantes, quando souberam da retumbante vitória de Ambrosius em Kaerconan, ofereceram aos saxões fugitivos fria acolhida. Com toda a velocidade de Octa, Ambrosius não estava nem dois dias atrás dele, e à vista do nosso enorme exército descansado e reforçado por novos aliados britânicos, encorajados pelas vitórias do Dragão Vermelho, os saxões, duvidando de que a cidade pudesse resistir-lhe, decidiram pedir clemência.
Eu mesmo presenciei, quando estava na carroça com as máquinas de assédio, sob as muralhas. De certa forma, foi mais desagradável do que uma batalha. O líder saxão era um homem grande, louro como o pai, e jovem. Compareceu perante Ambrosius só de calças, que eram feitas de um material grosseiro e atadas com correias de couro. Seus pulsos estavam igualmente atados, mas com uma corrente, e a cabeça e o corpo cobertos de cinzas, um sinal de humilhação de que mal necessitava. Seus olhos demonstravam rancor, e via-se que tinha sido forçado a isso pela covardia — ou sabedoria, como quiserem chamá-la — do grupo de notáveis saxões e britânicos que se aglomeravam por trás dele fora das portas da cidade, suplicando a Ambrosius misericórdia para si e suas famílias.
Dessa vez ele a concedeu. Exigiu apenas que o restante do exercito saxão se retirasse para o norte, para além da velha muralha de Adriano, que (disse ele) consideraria a fronteira do seu reino. Dizia-se que as terras, dali em diante, eram selvagens e sombrias e quase que inabitáveis, mas Octa recebeu sua liberdade bastante satisfeito e em seguida, ansioso pela mesma graça, veio seu primo prostrando-se à generosidade de Ambrosius. Recebeu-a, e a cidade de York abriu os portões ao seu novo rei.
À primeira ocupação de uma cidade por Ambrosius seguir-se-ia sempre o mesmo padrão. Primeiramente, o estabelecimento da ordem nunca permitiu a presença dos seus aliados britânicos numa cidade; suas próprias tropas da Bretanha Menor, sem lealdades locais eram as que estabeleciam e mantinham a ordem. As ruas eram limpas, as fortificações temporariamente reparadas, traçando-se planos para as obras futuras, que eram postos nas mãos de um pequeno grupo de engenheiros capazes, os quais deveriam contratar trabalhadores locais. Depois, uma reunião dos líderes da cidade, uma discussão da política futura, um juramento de lealdade a Ambrosius, e providências para a guarnição da cidade depois que partisse o exército. Finalmente, uma cerimônia religiosa de ação de graças com uma festa e um feriado público.
Em York, a primeira grande cidade tomada por Ambrosius, a cerimônia foi realizada na igreja, num dia escaldante de fins de junho, na presença de todo o exército e de uma grande multidão.
Eu já comparecera a uma cerimônia privada em outro local.
Não era de se esperar que ainda houvesse um templo de Mithras em York. O culto era proibido, e de qualquer forma teria desaparecido quando a última legião deixara a costa saxônica, há quase um século atrás; mas na época das legiões, o templo de York era um dos mais belos do país. Já que não havia nenhuma gruta natural por perto, fora originalmente construído sob a casa do comandante romano, uma grande cave, e devido a isso os cristãos não tinham conseguido profaná-lo e destruí-lo, como era seu hábito, em se tratando dos locais sagrados dos outros homens. Mas o tempo e a umidade tinham-se encarregado disso, e o santuário desmoronou por falta de cuidados. Certa vez, sob um governador cristão, tinha havido uma tentativa de transformar o local numa cripta, mas o governador seguinte fora francamente, para não dizer violentamente, contra. Ele próprio era cristão, mas não via razão para que uma boa cave sob sua casa não fosse usada para sua verdadeira (para ele) finalidade, isto é, guardar vinho. E depósito de vinho permaneceu até o dia em que Uther enviou uma equipe de trabalho para limpá-la e consertá-la para a reunião a ser realizada no próprio dia da festa do deus, dezesseis de junho. A hora da reunião foi mantida secreta, não por medo, mas por política, já que a ação de graças oficial seria cristã e Ambrosius estaria lá para dar graças na presença dos bispos e de toda a gente. Eu próprio não vira o santuário, tendo andado ocupado durante os primeiros dias em York com a restauração da igreja cristã, em tempo para a cerimônia pública. Mas na festa de Mithras eu estaria presente no templo subterrâneo com os outros de mesma graduação. A maioria deles eram pessoa que eu não conhecia ou não conseguia identificar pela voz atrás da máscara; mas Uther era reconhecível, e meu pai naturalmente esta ria lá, no seu posto de Mensageiro do Sol.
A porta do templo encontra-se fechada. Nós, os de grau inferior, esperávamos a vez na antecâmara.
Era uma sala um tanto pequena e quadrada, iluminada por apenas dois archotes presos às mãos de estátuas de cada lado da porta do templo. Acima do portal havia uma velha máscara de pedra representando um leão, gasta e corroída, parte integrante da parede De cada lado, tão gastos e lascados, os narizes e membros partidos e arrancados, os dois archoteiros de pedra ainda pareciam antigos e majestosos. A antecâmara era fria apesar dos archotes e cheirava a fumaça. Senti o frio subir-me pelo corpo; vinha do chão de pedra pelos meus pés descalços e sob a veste longa de lã branca sob a qual eu estava nu. Mas, quando o primeiro arrepio passou pela minha pele, a porta do templo abriu-se e num minuto tudo era luz, cor e fogo.
Mesmo agora, passados tantos anos e sabendo tudo o que acumulei numa vida inteira, não consigo quebrar o voto de silêncio e segredo. E que eu saiba, homem algum o fez. Dizem que o que se aprende em criança nunca pode ser completamente expurgado da mente, e sei que nunca consegui escapar do encantamento do deus secreto que me conduziu à Bretanha e me atirou aos pés do meu pai. Na verdade, quer fosse pela marca no espírito a que me referi, ou pela intervenção do próprio deus, vejo que a lembrança do seu culto foi envolvida por uma névoa, como se não tivesse passado de um sonho. E um sonho poderá ter sido, não só essa vez, mas formado por todas as outras vezes, desde a primeira visão do campo à meia-noite, à cerimônia daquela noite, que foi a última.
De algumas coisas eu me lembro. Mais archoteiros de pedra. Os longos bancos de cada lado da nave central onde os homens se recostavam, as roupas coloridas, as máscaras voltadas para nós, os olhos atentos. Os degraus na extremidade e a grande ábside com um arco, qual a boca de uma caverna, abrindo-se para outra onde, sob a abóbada engastada de estrelas, se achava um velho relevo de pedra representando Mithras matando um touro. De alguma forma deveria ter sido resguardado dos martelos dos iconoclastas, pois se apresentava ainda nitidamente entalhado e dramático. Ali estava ele à luz dos archotes, o rapaz da pedra aprumada, o homem do barrete, ajoelhado sobre o touro caído, a cabeça voltada, pesaroso, golpeando-lhe a garganta com a espada. Ao pé dos degraus estavam os altares de fogo, um de cada lado. Junto a um deles, um homem mascarado de leão trazendo um bastão na mão esquerda. Junto ao outro, o Heliodromos, o Mensageiro do Sol. E no alto dos degraus, o centro da ábside, o Pai esperando para receber-nos.
Minha máscara de corvo tinha pequenos buracos para os olhos e eu via apenas direto em frente. Não ficaria bem olhar de um lado para outro com aquela máscara de pássaro, de modo que procurei prestar atenção às vozes imaginando quantos amigos estariam ali, quantos conhecidos. O único de que podia ter certeza era o Mensageiro, alto e quieto junto ao altar de fogo, e um dos leões, quer o do arco ou um dos que observavam ao longo dos bancos improvisados.
Essa era a estrutura da cerimônia e tudo de que consigo lembrar-me, exceto o fim. O leão que oficiava não era Uther, afinal. Era um homem mais baixo, corpulento e aparentemente mais velho que Uther, e a pancada atingiu-me com a batida ritual, sem a dor que Uther, geralmente, conseguia imprimir-lhe. Nem era Ambrosius o Mensageiro. Quando este último me entregou o pão e o vinho simbólico, vi o anel no dedo mínimo da mão esquerda, em ouro, circundando uma pedra de jaspe vermelho com o brasão do dragão, numa gravação miúda. Mas, quando levou a taça à minha boca e o manto púrpura escorregou para trás deixando aparecer o braço, reconheci a cicatriz branca na pele e olhei para cima encontrando seus olhos azuis por trás da máscara, iluminados por uma centelha de divertimento que cresceu para uma risada quando me assustei e derramei o vinho. Uther subira dois degraus, desde que eu comparecera pela última vez. aos mistérios. E já que não havia nenhum outro Mensageiro presente, só havia mais um lugar para Ambrosius...
Afastei-me do Mensageiro para ajoelhar-me aos pés do Pai. Mas as mãos que receberam as minhas para o juramento eram as mãos de um velho, e quando olhei para o alto, os olhos por trás da máscara eram os olhos de um estranho.
Oito dias mais tarde, realizou-se a cerimônia oficial de ação de graças. Ambrosius estava presente com todos os seus oficiais, inclusive Uther, "pois", disse-me mais tarde meu pai quando estávamos a sós, "como irá descobrir, todos os deuses nascidos da luz são irmão e nesta terra se Mithras, que nos deu a vitória, deve assumir o rosto de Cristo, ora, então cultuaremos Cristo."
Nunca mais falamos sobre isso.
A capitulação de York marcou o fim da primeira etapa da campanha de Ambrosius. A seguir a York, partimos para Londres em etapas fáceis e sem lutas, a não ser que se contem as poucas escaramuças do caminho. O que o Rei precisava empreender agora era o imenso trabalho de reconstrução e consolidação do seu reino Em todas as cidades e pontos fortificados ele deixou guarnições de homens experimentados sob oficiais de confiança e designou seus próprios engenheiros para ajudarem a organizar o trabalho de reconstrução e reparos de cidades, estradas e fortalezas. Por toda a parte, a imagem era a mesma: prédios dantes bonitos, arruinados ou destruídos sem conserto possível; estradas semi-desaparecidas por negligência; vilas destruídas e gente a esconder-se amedrontada em grutas e florestas; locais de culto arrasados ou profanados. Era como se a estupidez e a cobiça desregrada das hordas saxônicas tivesse empestado a terra toda. Tudo que trouxera luz — pintura, música, ciências, culto, reuniões, cerimônias do povo, festas da Páscoa, Todos os Santos, Solstício de Inverno, mesmo os ofícios domésticos, tudo havia desaparecido sob as nuvens negras em que cavalgavam os deuses nórdicos da guerra e do trovão. E tinham sido convidados por Vortigern, rei britânico. Aquilo era só o que o povo agora lembrava. Esqueciam-se de que Vortigern reinara bem por dez anos, e razoavelmente por mais alguns, antes de descobrir que o espírito de guerra que desencadeara no país escapara ao seu controle. Lembravam-se apenas de que ele obtivera o trono com sangue, traição e a morte de um parente — e que aquele parente era o verdadeiro Rei. Acorriam então em bandos para Ambrosius, pedindo para ele a bênção dos seus diferentes deuses, saudando-o com alegria como Rei, o primeiro Rei de toda a Bretanha, a primeira oportunidade brilhante de o país tornar-se uno.
Outros homens contaram a história da coroação de Ambrosius e da sua primeira obra como Rei da Bretanha; foi até mesmo escrita, portanto só direi aqui que permaneci com ele os dois primeiros anos, conforme falei, mas na primavera do meu vigésimo aniversário deixei-o. Já estava farto de conselhos e desfiles e longas discussões legais em que Ambrosius tentava restaurar as leis caídas em desuso e as intermináveis reuniões com os anciãos e bispos, monótonas como o zumbido das abelhas, gastando dias e semanas em cada gota de mel. Estava mesmo cansado de construir e traçar; a fora o único trabalho que eu executara para ele em todos os longos meses que servi no exército. Vi finalmente que precisava deixá-lo afastar-me da pressão dos assuntos que o cercavam; o deus "-o fala àqueles que não têm tempo para ouvi-lo. A mente precisa buscar o alimento necessário, e compreendi por fim que qualquer que fosse o trabalho que eu precisasse fazer deveria ser feito na quietude das minhas montanhas. Assim, na primavera, quando fomos para Winchester, enviei um recado a Cadal e procurei Ambrosius para dizer-lhe que precisava partir.
Ele ouviu-me meio ausente; as preocupações pressionavam-no demasiado naqueles dias, e os anos, que não pareciam contar antes, descarregavam sobre ele todo o seu peso. Notei que isso acontece freqüentemente com os homens que orientam sua vida para a luz distante de um farol alto; quando o topo da montanha é atingido e já não há o que galgar e tudo o que resta é empilhar mais sobre a chama e manter o farol ardendo, sentam-se de lado e envelhecem. Onde antes o sangue agitado os aquecia, o farol precisa agora fazê-lo de fora para dentro. Assim foi com Ambrosius. O Rei que me ouvia sentado no trono em Winchester não era o jovem comandante que eu encarara por sobre a mesa juncada de mapas na Bretanha Menor, ou mesmo o Mensageiro de Mithras que atravessara os campos cobertos de gelo para vir ter comigo.
— Não posso segurá-lo — disse ele. — Você não é meu oficial, é apenas meu filho. Irá para onde quiser.
— Continuarei a servi-lo. Sabe disso. Mas sei agora como melhor fazê-lo. Falou outro dia em mandar uma tropa para Caerleon. Quem vai?
Ele olhou um papel. Há um ano atrás, teria sabido sem olhar:
— Priscus, Valens. Provavelmente Sidonius. Partem dentro de dois dias.
— Então irei com eles.
Ele olhou para mim. De repente era outra vez o velho Ambrosius. — Uma flecha surgindo das trevas?
— Poderia ser. Sei que preciso ir-me.
— Então vá em segurança. E algum dia volte para mim. Alguém nos interrompeu, então. Quando o deixei, ele já revia, palavra por palavra, uma minuta trabalhosa dos novos estatutos da cidade.
A estrada de Winchester a Caerleon é boa e o tempo apresentava-se firme e seco. Assim, não paramos em Sarum, mas enquanto havia luz prosseguimos para o norte, atravessando a Grande Planície.
Um pouco adiante de Sarum encontra-se o lugar onde nasceu Ambrosius. Não consigo nem lembrar-me mais que nome teve no passado, mas já naquela altura era chamado em sua homenagem de Amberesburg ou Amesbury. Nunca passara por ali antes e tinha idéia de visitar o local, de modo que cavalgamos a toda pressa e chegamos pouco antes do pôr do sol. Eu e os oficiais recebemos alojamentos confortáveis na casa do chefe da cidade — pouco mais que uma vila, mas já agora cônscia de sua importância como cidade natal do Rei. Não muito distante ficava o lugar onde há muitos anos atrás uns cem nobres britânicos tinham sido traiçoeiramente massacrados pelos saxões e enterrados numa vala comum. Situava-se a oeste de Amesbury, para além do grande círculo de pedras a que os homens chamam de Dança dos Gigantes ou Dança das Pedras Pendentes.
Há muito que ouvira falar dessa dança e sentia curiosidade de vê-la. Assim, quando a tropa alcançou Amesbury e preparava-se para passar a noite, apresentei desculpas ao meu anfitrião e dirigi-me para oeste, sozinho, rumo à planície aberta. Ali, por milhas e milhas, a grande planície estende-se sem montanhas ou vales, sem interrupções exceto por pequenos grupos de espinheiros e tojos, e aqui e ali um carvalho solitário desfolhado pelos ventos. O sol punha-se tarde e naquela noite rumei para oeste no meu cavalo cansado; o céu à minha frente estava ainda tinto pelos últimos raios de sol enquanto atrás de mim amontoavam-se as nuvens azul-ardósia e uma estrela madrugadora surgia.
Creio que eu esperava que a Dança fosse muito menos imponente que o exército de pedras enfileiradas a que me acostumara na Bretanha, algo talvez na escala do círculo da ilha dos druidas. Mas essas pedras eram gigantescas, as maiores que eu já vira; e o seu próprio isolamento, aprumadas como estavam no centro daquela planície imensa e deserta, encheu-me o coração de pasmo.
Contornei-as devagar, os olhos arregalados; desmontei e, deixando o cavalo a pastar, encaminhei-me para duas pedras aprumadas do círculo exterior. Minha sombra, projetando-se à frente por entre as sombras das mesmas, era minúscula, coisa de pigmeu. Parei involuntariamente como se os gigantes se tivessem dado as mãos para impedir-me a passagem.
Ambrosius perguntara-me se "uma flecha surgira das trevas." Respondera-lhe que sim e era verdade, mas ainda precisava descobrir por que fora trazido ali. Eu só sabia que estava ali, e desejei estar longe. Senti algo como na Bretanha quando passei pela primeira vez no meio da avenida de pedras; um sopro na nuca como se alguma coisa mais antiga que o tempo estivesse a observar por cima do meu ombro; mas não era exatamente o mesmo. Era como se o chão, as pedras que eu tocava, ainda quentes do sol da primavera, estivessem a expirar frio das profundezas da terra.
Meio relutante, prossegui. A luz desaparecia rapidamente e para caminhar até o centro era preciso cuidado. O tempo e as tempestades — e talvez os deuses da guerra — tinham estado em ação derrubando muitas das pedras que se encontravam caídas ao acaso, mas o traçado ainda podia ser distinguido. Era um círculo, mas não se assemelhava a nada que eu tivesse visto na Bretanha, nada que eu pudesse jamais ter imaginado. Houvera originalmente um círculo exterior de pedras gigantescas e onde agora se observava uma meia-lua, notei que os menires eram encimados por um dintel de pedras sucessivas tão grandes quanto as primeiras, numa curva contínua que se erguia como uma cerca gigantesca contra o céu. Aqui e ali havia outras do círculo exterior, de pé, mas a maioria tombara ou formava no chão ângulos com os dintéis de pedra ao lado delas. Dentro do círculo maior, havia um menor, de pedras aprumadas, sobre as quais haviam tombado algumas das gigantes do círculo externo, estendendo-as ao comprido. No interior dessas, marcando o centro, uma ferradura de enormes pedras encimadas aos pares. Três desses grupos conservavam-se intactos; o quarto caíra trazendo a vizinha na queda. E, ainda, outra ferradura no interior dessa última, com pedras menores, quase todas aprumadas. O centro permanecera vazio, riscado de sombras.
O sol desaparecera e, com a sua fuga, o céu do ocidente perdera seu colorido, deixando apenas uma estrela a brilhar num ondulante mar verde. Fiquei imóvel. Tudo estava muito quieto, tão quieto que eu podia ouvir o som produzido pelo meu cavalo ao cortar a relva e o retinir suave do seu freio quando se movia. O único outro som era o sussurro dos estorninhos aninhando-se entre as grandes pedras do alto. O estorninho é um pássaro sagrado para os druidas e eu ouvira dizer que, no passado, a Dança fora usada para o culto pelos sacerdotes druidas. Correm muitas histórias a respeito da Dança: como as pedras foram trazidas da África e aprumadas pelos gigantes de outrora, ou que eram os próprios gigantes transformados em pedra por uma maldição quando dançavam em círculo. Mas não eram os gigantes que sopravam o frio da terra e das pedras; as pedras tinham sido postas ali pelos homens, e a maneira como foram erguidas era cantada por poetas como o velho cego da Bretanha. Um fiapo de luz incidiu sobre a pedra ao meu lado. Uma protuberância na sua superfície correspondia a um orifício no dintel caído ao seu lado. Essas espigas e encaixes tinham sido talhados por homens, artesãos, como os que eu observara quase que diariamente nos últimos anos na Bretanha Menor, em York, Londres, Winchester. E imensas como eram, construções de gigantes como pareciam ser, tinham sido erguidas pelas mãos de trabalhadores, sob o comando de engenheiros e ao som de músicas como as que eu ouvira do cantor cego em Kerrec.
Continuei vagarosamente atravessando o centro do círculo. A claridade pálida do céu alongou minha sombra adiante, recortando por um momento à sua luz fugidia a forma de um machado de duas cabeças sobre uma das pedras. Hesitei — e então voltei-me para olhar. Minha sombra estremeceu e mergulhou. Pisei numa cova rasa e caí.
Era apenas uma depressão no solo, do tipo que poderia ter sido feita há anos atrás pela queda de uma das grandes pedras. Ou por uma sepultura...
Não havia nenhuma pedra por perto de tal tamanho, nenhum sinal de escavação, ninguém enterrado ali. A relva macia e aparada pelos carneiros e pelo gado e sob as minhas mãos, ao erguer-me lentamente, havia margaridinhas estreladas e perfumadas. Mas, enquanto estivera deitado, senti o frio atingir-me por baixo numa pontada tão súbita como uma flechada e percebi que esta era a razão por que fora trazido ali.
Apanhei meu cavalo, montei-o e voltei à terra natal do meu pai, a duas milhas de distância.
Chegamos a Caerleon quatro dias depois, para descobrir o lugar completamente mudado. Ambrosius pretendera usá-lo como um dos seus três postos principais juntamente com Londres e York, e o próprio Tremorinus estivera trabalhando ali. As muralhas tinham sido reparadas, a ponte consertada, o rio drenado, os barrancos escorados, e todo o bloco de leste das casernas reconstruído. Em épocas anteriores, o estabelecimento militar de Caerleon, circundado pelas montanhas baixas e protegido pela curva do rio, era um lugar enorme; não havia necessidade nem da metade agora; portanto, Tremorinus arrasara parte do que restara do bloco oeste das casernas e empregara esse mesmo material para erguer os novos alojamentos, os banhos e as cozinhas novas em folha. Os antigos estavam até em piores condições do que a casa de banho de Maridunum e agora eu dizia a Tremorinus:
— Você terá todos os homens da Bretanha pedindo para serem destacados para servir aqui.
Ele pareceu satisfeito.
— Não estaremos prontos a tempo — falou. — Corre um boato de que teremos mais problemas em breve. Soube de alguma coisa?
— Nada. Mas se são notícias recentes eu não poderia saber. Estamos viajando há quase uma semana. Que espécie de problemas? Não é Octa de novo?
— Não, Pascentius. — Este era o irmão de Vortimer que lutara ao seu lado na rebelião e fugira para o norte depois da sua morte.
— Sabia que ele embarcou para a Germânia? Dizem que vai voltar.
— Dê-lhe tempo — disse eu — e pode estar certo de que voltará. Bem, você me mandará notícias, se houver?
— Mandar? Não vai ficar aqui?
— Não. Vou para Maridunum. É minha terra, sabe.
— Tinha esquecido. Bem, talvez o vejamos de vez em quando; estarei por aqui por mais um pouco — começamos a trabalhar na igreja agora. — Sorriu. — O bispo tem andado atrás de mim como uma mutuca; acha que eu deveria ter pensado nisso antes de gastar tanto tempo nas coisas terrenas. E há também a conversa de erguer algum monumento à vitória do Rei. Um arco triunfal, sugerem alguns, uma coisa no velho estilo romano. Naturalmente, dizem aqui em Caerleon que deveríamos construir a igreja com esse propósito
— a glória de Deus com Ambrosius de quebra. Embora eu próprio ache que, se algum bispo mereceria crédito pela glória de Deus e de Ambrosius juntos, deveria ser Gloucester — o velho Eldad cercado pelos melhores dentre eles. Você o viu?
— Ouvi-o. Ele riu-se.
— Bem, em todo caso dormirá aqui esta noite, espero? Ceie comigo.
— Obrigado. Será um prazer.
Conversamos até tarde e ele mostrou-me alguns dos seus planos e desenhos e parecia ansioso, o que me encantou, que eu viesse de Maridunum para observar os diversos estágios da construção. Prometi-lhe que sim, e no dia seguinte parti de Caerleon sozinho, recusando um pedido urgente e igualmente desvanecedor do comandante do acampamento para que o deixasse fornecer-me uma escolta. Mas recusei e já à tardinha cheguei afinal à vista das minhas montanhas. Nuvens de chuva avolumavam-se no oeste, mas como uma cortina brilhante diante delas surgiam os raios oblíquos do sol. Via-se, num dia como esse, por que as montanhas verdejantes de Gales tinham sido chamadas de Montanhas Negras e os vales que as formavam de Vales de Ouro. Feixes de luz horizontal cortavam as árvores dos vales dourados fazendo as montanhas ao fundo parecer azul-ardósia ou pretas, os topos como que a sustentarem o céu.
Levei dois dias a caminho, cavalgando descansadamente e reparando pelo trajeto como a terra já parecia ter readquirido o seu viço de paz. Um fazendeiro que construía um muro mal olhou para mim quando passei e uma menina que vigiava um rebanho de ovelhas sorriu. E quando cheguei ao moinho do Tywy parecia que ele funcionava normalmente; havia sacos de cereais empilhados no pátio e ouvia-se o claque-claque-claque da roda a girar.
Passei ao pé do caminho que levava à gruta e continuei direto para a cidade. Creio que disse a mim mesmo que o meu primeiro dever e obrigação era visitar o convento de São Pedro para saber os pormenores da morte de minha mãe e ver onde estava enterrada. Mas, quando desci do cavalo à porta do convento e ergui a mão para o sino, soube pelas batidas do meu coração que me enganava.
Poderia ter poupado a mim mesmo a mentira; foi a velha porteira que me fez entrar conduzindo-me diretamente, sem que lhe fosse pedido, pelo pátio interno e descendo por uma encosta verdejante perto do rio onde minha mãe estava enterrada. Era um lugar lindo, um terreno viçoso próximo a um muro onde pereiras desabrochavam prematuramente com o calor e, acima da neve, os pombos brancos, que ela tanto apreciava, voltavam o peito para o sol. Ouviu-se o murmúrio do rio além do muro, e por entre as árvores farfalhantes o toque do sino da capela.
A abadessa recebeu-me carinhosamente, mas nada tinha a acrescentar ao relato que eu recebera logo após a morte de minha mãe e que passara ao meu pai. Deixei dinheiro para as orações e para que mandassem fazer uma laje esculpida e, quando parti, trazia a sua cruz de prata com ametistas guardada na minha mochila. Uma pergunta não tive coragem de fazer, mesmo quando uma moça que não era Keri trouxe vinho para mim. E, finalmente, com a pergunta por formular, fui acompanhado ao portão e à salda. Ali pensei por um momento que minha sorte mudara, pois quando desamarrava as rédeas do cavalo do anel junto ao portão vi a velha porteira espreitando-me pela grade lembrando-se sem dúvida do ouro que eu lhe dera na primeira visita. Mas quando tirei do bolso o dinheiro e a chamei para perto para gritar-lhe a pergunta ao ouvido, e mesmo depois de repeti-la três vezes, e conseguir fazer-me entender, sua única resposta foi um encolher de ombros e uma palavra:
— Foi-se.
Mesmo que ela me tivesse entendido, pouco adiantaria. Afinal, desisti. Em qualquer caso, disse a mim mesmo, era algo que precisava ser esquecido. Parti da cidade e retrocedi algumas milhas até o meu vale, a imagem do seu rosto gravada em tudo o que via e o ouro dos seus cabelos em cada feixe de luz oblíqua.
Cadal reconstruíra o abrigo que Galapas e eu havíamos erguido na moita de espinheiros. Tinha um bom telhado e uma porta robusta e poderia com facilidade guardar dois cavalos grandes. Um, o de Cadal, imaginei, já estava lá.
O próprio Cadal deveria ter-me ouvido subir o vale; porque antes que eu tivesse desmontado desceu a correr a trilha junto ao penhasco, tirou o freio das minhas mãos e, erguendo-as entre as suas, beijou-as.
— Ora, o que é isso? — perguntei surpreso. Não precisava temer pela minha segurança; as mensagens que eu lhe enviara tinham sido regulares e tranqüilizadoras. — Não recebeu recado de que eu vinha?
— Sim, recebi. Faz tanto tempo! Parece bem disposto.
— E você! Está tudo bem aqui?
— Creio que sim. Se precisava viver num lugar como este, há meios e maneiras de torná-lo habitável. Agora desça do cavalo, sua ceia está pronta.
E curvou-se para desafivelar a barrigueira do cavalo, deixando-me subir sozinho a gruta.
Tivera muito tempo para arrumá-la, mas mesmo assim a surpresa apanhou-me com o impacto de um milagre. Estava como sempre fora, um lugar de relva verde e sol. Margaridas e amores-perfeitos espreitavam pela relva entre os rolinhos verdes das samambaias novas e coelhinhos escondiam-se sob os espinheiros em flor. A fonte corria com a transparência do cristal, deixando ver claramente o cascalho prateado do fundo do poço. Acima, no nicho coberto de fetos, achava-se a imagem esculpida do deus; Cadal deve tê-laencontrado ao retirar os detritos do poço. Encontrara até o caneco de chifre. Estava ali no lugar de sempre. Bebi com ele, deixei cair as gotas para o deus e entrei na gruta.
Meus livros tinham vindo da Bretanha Menor; a grande arca encontrava-se encostada à parede da gruta onde costumava ficar a caixa de Galapas. Onde havia uma mesa, achava-se outra que reconheci como pertencendo à casa do meu avô. O espelho de bronze fora reposto no seu lugar. A gruta limpa tinha um cheiro doce e seco. Cadal construíra uma lareira de pedra e as achas encontravam-se preparadas para acendê-la. Quase esperei ver Galapas sentado ao pé da lareira e na saliência, junto à entrada, o falcão que se encarapitara ali na noite em que o menino deixara a gruta em lágrimas. Nas profundezas das sombras, acima do degrau ao fundo, estava a fenda mais escura que ocultava a gruta de cristal.
Aquela noite, deitado na cama de folhas com as mantas aconchegadas ao meu redor, pus-me a escutar, quando o fogo se apagou, o farfalhar das folhas no exterior da gruta e mais distante o sussurro da fonte. Eram os únicos sons do mundo. Fechei os olhos e dormi como nunca mais o tinha feito desde criança.
Como um bêbado que, enquanto não há vinho, pensa que se curou do vício de beber, pensei que estava curado da minha sede de silêncio e solidão. Mas, desde a primeira manhã, ao acordar em Bryn Myrddin, compreendi que aquilo não era apenas um refúgio, era o meu lugar. Abril cedeu passagem a maio e os cucos cantavam de uma montanha para outra, as campainhas azuis desabrochavam entre as samambaias novas e as noites enchiam-se de balidos de carneiros e ainda assim, nem uma só vez eu chegara mais perto da cidade do que a crista da montanha, duas milhas para o norte, onde eu colhia folhas, e ervas. Cadal descia diariamente em busca de suprimentos e de notícias correntes e duas vezes um mensageiro subiu o vale; uma com um monte de esboços de Tremorinus e outra com notícias de Winchester e dinheiro do meu pai — nenhuma carta, apenas a confirmação de que Pascentius estava realmente reunindo tropas na Germânia e a guerra com certeza estouraria antes do fim do verão.
Pelo resto, eu lia e passeava pelas montanhas, colhia plantas, preparava remédios. Também compunha música e cantava um número de canções que faziam Cadal olhar-me de esguelha, erguendo a cabeça das suas ocupações para sacudi-la. Algumas delas ainda são cantadas, mas a maioria é melhor permanecer esquecida. Uma das últimas era a que eu cantava certa noite, quando maio invadiu a cidade com as suas nuvens de flores e os botões das campanhias cinzentas tornavam-se azuis ao longo das moitas.
A terra é cinzenta e nua, as árvores limpas como ossos,
O verão foi-lhes roubado; o cabelo do salgueiro,
A beleza da água azul, a relva transformada em ouro,
E roubado também o canto do passarinho,
Roubado por uma moça, esguia como um salgueiro.
Alegre como um pássaro num ramo de maio em flor,
Doce como o sino no alto de uma torre
Ao dançar sobre os juncos do rio
E seus passos faíscam na relva cinzenta.
Dar-lhe-ia um presente, rainha das donzelas,
Mas o que resta para dar-lhe no meu vale despojado?
As vozes do vento ao passar pelos colmos, os brilhantes de chuva
E o veludo do musgo na pedra tão fria.
Que me resta dar-lhe além do musgo na pedra
Se fecha os olhos e abandona-me no sonho?
No dia seguinte eu caminhava por um vale arborizado a uma milha de casa procurando hortelã silvestre e ambrósia, quando, como se a meu chamado, ela surgiu pela trilha entre as campainhas azuis e as samambaias. Pelo que sei, talvez a tivessem chamado. Uma flecha é uma flecha, qualquer que seja o deus que a tenha atirado.
Parei junto a um grupo de bétulas, o olhar fixo como se ela fosse desaparecer; como se eu a tivesse realmente produzido naquele momento de sonho e desejo, um fantasma à luz do sol. Não conseguia mover-me, embora todo o meu corpo e o meu espírito parecessem saltar ao seu encontro. Viu-me, o riso iluminou-lhe o rosto e dirigiu-se para mim caminhando levemente. No tabuleiro de luz e sombras ondulantes produzido pelo movimento dos ramos das bétulas, ela parecia ainda mais etérea, como se os seus passos mal chegassem a agitar a relva, mas então se aproximou e já não era uma visão, mas a própria Keri, como eu lembrava, num vestido castanho grosseiro, cheirando a madressilvas. Agora não trazia capuz; o cabelo estava solto pelos ombros e os pés, descalços. O sol espiava por entre as folhas em movimento fazendo seu cabelo refulgir como a luz sobre a água. As mãos estavam cheias de campainhas azuis.
— My lord! — A voz fina e ofegante transparecia prazer. Continuei imóvel com toda a dignidade à minha volta como um manto sob o qual o corpo todo fremia como o de um cavalo que sente o freio e a espora ao mesmo tempo. Imaginei se iria beijar-me a mão novamente e, se o fizesse, qual seria a minha reação.
— Keri! O que está fazendo aqui?
— Ora, colhendo campainhas azuis. — A inocência completa do seu olhar roubou às palavras a petulância. Ergueu-as, rindo-se para mim por trás delas. Deus sabia o que ela poderia estar vendo no meu rosto. Não, ela não ia beijar-me a mão. — Não sabia que deixei o convento de São Pedro?
— Sim, disseram-me. Pensei que tivesse ido para outro.
— Não, isso nunca. Eu odiava aquilo. Era como estar numa gaiola — Algumas moças gostavam, o convento fazia com que se sentissem seguras, mas a mim não. Não fui feita para aquela vida.
— Tentaram fazer a mesma coisa comigo certa vez — disse eu.
— Você fugiu também?
— Oh, sim! Mas fugi antes que me trancassem. Onde está morando agora, Keri?
Ela pareceu não ter ouvido a pergunta.
— Você também não foi feito para aquela vida? Para estar algemado, quero dizer?
— Não aquelas algemas.
Vi que ela refletia sobre isso, mas eu próprio não sabia o que quisera dizer, de modo que me calei, observando-a sem pensar, sentindo apenas a intensa felicidade do momento.
— Senti muito o que aconteceu à sua mãe — disse ela.
— Muito obrigado, Keri.
— Ela morreu assim que você partiu. Suponho que lhe tenham contado tudo?
— Sim. Fui ao convento, assim que voltei a Maridunum.
Ela permaneceu silenciosa por um momento, os olhos baixos. Apontou para o dedo do pé nu na relva, um movimento ondulante e tímido que fez sacudir as maçãs douradas à sua cinta. — Eu sabia que você voltara. Toda a gente está falando nisso.
— Está? Ela acenou.
— Disseram-me na cidade que você era príncipe além de um grande mago... — Ela ergueu os olhos então, a voz sumindo como a duvidar, encarando-me. Eu usava a roupa mais velha que tinha, uma túnica com manchas de ervas, que nem mesmo Cadal conseguira remover, e meu manto estava esfiapado e rasgado pelos espinhos e sarças. Minhas sandálias eram de lona como as de um escravo; era inútil usar couro na relva alta e úmida. Mesmo comparado ao rapaz simplesmente vestido que ela vira antes, eu deveria parecer um mendigo. Perguntou, com a franqueza da inocência: — Você ainda é príncipe agora que sua mãe já não existe?
— Sou. Meu pai é um Suserano. Seus lábios entreabriram-se.
— Seu pai? O Suserano? Eu não sabia. Ninguém disse isso.
— Pouca gente sabe. Mas agora que minha mãe está morta, não faz diferença. Sim, sou filho dele.
— O filho de Suserano... — Ela se inspirou ao dizer isso, admirada. — E mago também. Sei que isso é verdade.
— Sim. É verdade.
— Você me disse uma vez que não era. Sorri.
— Disse que não sabia curar dor de dentes.
— Mas curou-a.
— Assim falou você. Não acreditei.
— O seu toque curaria qualquer coisa — disse ela, acercando-se de mim.
A gola do vestido caía frouxa. Seu pescoço era alvo como as madressilvas. Sentia o seu perfume e o perfume das campainhas azuis e o do sumo agridoce das flores esmagadas entre nós. Estendi a mão e puxei a gola do vestido e o cordão desamarrou. Seus seios eram redondos, cheios e mais macios que qualquer coisa que eu já imaginara. Arredondaram-se nas minhas mãos como os peitos dos pombos de minha mãe. Creio que eu esperava que ela gritasse e afastasse de mim, mas ela aconchegou-se ardorosa, riu, passou as mãos por trás da minha cabeça, enterrou os dedos nos meus cabelos e mordeu-me a boca. Então subitamente largou todo o peso sobre mim, e ao estender as mãos para abraçá-la, mergulhando desajeitado num beijo, tropecei e caí ao chão, ela sob mim e as flores a espalharem-se à nossa volta com a queda.
Levou-me algum tempo para compreender. A princípio foi riso e a respiração entrecortada e tudo o que incendeia a imaginação à noite, mas continuei a segurá-la firme e forte por causa de sua pequenez e dos ruídos doces que fazia quando eu a magoava. Era esguia como um colmo, delicada, e poder-se-ia pensar que aquilo me faria sentir como um duque no mundo, mas de repente ela emitiu um som gutural como se sufocasse e contorceu-se nos meus braços como eu vira um homem à morte contorcer-se em dores e sua boca ergueu-se como a golpear-me, comprimindo a minha.
De repente era eu que sufocava; seus braços puxavam-me, sua boca sugava-me, seu corpo arrastava-me para aquela escuridão apertada e final, sem ar, sem luz, sem fôlego, sem murmúrio de espírito a despertar. Um túmulo dentro de outro túmulo. O medo queimou-me o cérebro como uma lâmina quente diante dos olhos. Abri-os e nada conseguia ver, exceto a luz rodopiante e a sombra da árvore sobre mim, seus espinhos a rasgarem-se como lanças. Uma forma aterrorizante unhava-me o rosto. A sombra do espinheiro aumentava e estremecia, a boca da caverna escancarava-se e as paredes respiravam esmagando-me. Lutei para livrar-me e rolei para longe dela, transpirando de medo e vergonha.
— O que foi? — Mesmo sua voz parecia surda. As mãos ainda moviam-se no espaço que eu ocupara.
— Sinto muito, Keri. Sinto muito.
— O que quer dizer? O que houve? — Virou a cabeça em meio a uma cascata de ouro. Seus olhos estavam apertados e nublados. Estendeu os braços para mim. — Oh, se é só isso, venha cá. Não faz mal, eu lhe mostro, venha cá.
— Não. — Tentei afastá-la gentilmente, mas tremia. — Não, Keri. Deixe-me. Não.
— O que aconteceu? — Seus olhos arregalaram-se de repente. Ergueu-se sobre os cotovelos. — Ora, acredito que nunca fez isso antes. Fez? Fez?
Não respondi.
Ela soltou uma gargalhada que pretendera ser alegre, mas saiu esganiçada. Rolou outra vez e estendeu as mãos. — Bem, não importa, pode aprender, não pode? Você é homem, afinal de contas. Pelo menos, pensei que era... — E numa fúria de impaciência. — Oh, pelo amor de Deus! Apresse-se, sim? Estou-lhe dizendo que tudo sairá bem.
Apanhei-a pelos pulsos e segurei-a.
— Keri, sinto muito. Não sei explicar, mas isto é... Não devo, é só o que sei. Não, ouça, dê-me um minuto.
— Solte-me!
Soltei-a e ela afastou-se, sentando-se. Os olhos pareciam zangados. Havia flores presas aos seus cabelos.
Eu disse:
— Não é por sua causa, Keri, não pense isso. Não tem nada a ver com você...
— Não sou bastante boa para você, é isso? Porque minha mãe foi uma prostituta?
— Foi? Eu nem sabia. — Sentia-me imensamente cansado, agora. Falei cauteloso: — Já disse que isso nada tem a ver com você. Você é linda, Keri, e a primeira vez que a vi senti... você deve saber o que eu senti. Mas isso nada tem a ver com o sentimento. É entre mim e... é algo a ver com o meu... — Parei. Não adiantava. Seus olhos observavam-me, brilhantes e vazios, e então ela voltou-se para um lado com brusquidão e começou a acertar o vestido. Em vez de "poder", terminei: — ... algo a ver com a minha mágica.
— Mágica. — Fez beicinho como uma criança magoada. Amarrou a cinta, apertando-a, e começou a recolher as campainhas azuis caídas, repetindo despeitada: — Mágica. Acha que acredito na sua mágica tola? Pensa realmente que eu estava com dor de dentes naquela vez?
— Não sei — respondi, desanimado. Pus-me de pé.
— Bem, talvez não se precise ser homem para ser mágico. Deveria ter entrado para aquele convento, afinal.
— Talvez. — Uma flor estava presa aos seus cabelos e ela ergueu a mão para arrancá-la. Os fios finos de seda brilhavam à luz do sol como uma teia de aranha. Meu olhar caiu sobre a mancha azulada no seu pulso. — Você está bem? Machuquei-a?
Ela nem respondeu, nem levantou os olhos. Afastei-me.
— Bem, adeus, Keri.
Tinha dado talvez uns seis passos quando sua voz me fez parar.
— Príncipe... Voltei-me.
— Ah, então entende? — disse ela. — Estou surpresa. Filho do Suserano, diz que é, e nem ao menos me deixa uma moeda de prata para pagar-me pelo vestido?
Devo ter ficado parado encarando-a como um sonâmbulo. Ela atirou o cabelo dourado para trás com um movimento da cabeça e riu-se de mim. Como um cego apalpando-se, meti a mão na bolsa que trazia ao cinto e tirei uma moeda. Era de ouro. Dei um passo na sua direção para entregá-la. Ela curvou-se para a frente ainda rindo, as mãos em concha como as de um mendigo. O vestido rasgado caía-lhe do lindo pescoço. Atirei-lhe a moeda e corri pela floresta.
Seu riso acompanhou-me até que eu passasse a crista e descesse pelo vale seguinte, lançando-me de bruços à beira do rio e afogando o seu corpo e o seu perfume na corrente montanhosa que cheirava a neve.
Em junho, Ambrosius veio a Caerleon e mandou buscar-me. Parti sozinho, chegando à noite, muito depois da ceia, quando as lâmpadas já estavam acesas e o acampamento, silencioso. O Rei ainda trabalhava; vi os feixes de luz irradiando-se do quartel-general e o brilho do estandarte do dragão do lado de fora. Encontrava-me ainda a alguma distância quando ouvi um estremecer de armas e uma silhueta alta saiu. Reconheci Uther.
Atravessou o caminho dirigindo-se a uma porta oposta à do Rei, mas com o pé já no primeiro degrau viu-me, parou e voltou.
— Merlin! Então chegou! Demorou bastante, não?
— O chamado foi urgente. Devo ir ao exterior, há coisas a fazer.
Ele ficou imóvel.
— Quem disse que deveria ir ao exterior?
— Não se fala em outra coisa. É a Irlanda, não é? Dizem que Pascentius arranjou aliados perigosos lá e que Ambrosius quer destruí-los rapidamente. Mas por que eu?
— Porque é o baluarte principal que ele quer destruir. Já ouviu falar de Killare?
— Quem não ouviu? Dizem que é uma fortaleza que nunca foi tomada.
— E dizem a verdade. Há uma montanha no centro da Irlanda,. de cujo cume se divisa toda a costa. E no alto dessa montanha há uma fortaleza, não de terra e paliçada, mas de pedras firmes. É por isso, meu querido Merlin, que precisamos de você.
— Compreendo. Precisam de máquinas.
— Precisamos de máquinas. Temos de atacar Killare. Se a tomamos, pode calcular que não teremos mais problemas por alguns anos. Então vou levar Tremorinus, e Tremorinus insiste em levar você.
— Imagino que o Rei não vá.
— Não. Agora preciso dar-lhe boa noite. Tenho negócios a tratar, senão eu o convidaria a entrar para esperar. Ambrosius está com o comando do acampamento, mas não creio que se demore muito.
A isso, disse um "boa noite" bastante agradável e subiu a correr os degraus do alojamento, chamando o criado antes mesmo de cruzar a porta.
Quase imediatamente, na porta do Rei ouviu-se mais um entrechocar de armas em saudação e o comandante do acampamento saiu. Sem me ver, parou para falar a uma das sentinelas e fiquei à espera até que terminasse.
Um movimento atraiu-me a atenção, uma agitação furtiva de sombras, quando alguém surgiu de mansinho pela passagem estreita entre os prédios do lado oposto, onde Uther estava instalado. As sentinelas, ocupadas com o comandante, nada viram. Afastei-me da luz dos archotes, observando. Uma figura esguia, de capa e capuz. Uma moça. Alcançou o canto iluminado e parou, olhando em redor. Então, com um gesto mais de segredo que de medo, puxou o capuz para cobrir melhor o rosto. Era um gesto que eu reconhecia, assim como reconheci a onda de perfume de madressilva no ar e sob o capuz os cachos de cabelo dourado à luz do archote.
Fiquei parado. Imaginei por que ela me seguira até ali e o que esperava ganhar. Não creio que o que eu sentia fosse vergonha, não agora, mas sentia mágoa, e desejo ainda. Hesitei, dei um passo adiante e chamei.
— Keri.
Mas ela não me deu atenção. Esgueirou-se das sombras e com rapidez e leveza subiu correndo os degraus da porta de Uther. Ouvi a sentinela pedir a senha, então um murmúrio e o riso abafado do homem.
Quando passei pela porta de Uther, esta se achava fechada. À luz da tocha vi o sorriso ainda no rosto da sentinela.
Ambrosius continuava sentado à sua mesa, o criado discretamente a ocupar-se dele.
Afastou os papéis para um lado e cumprimentou-me. O criado trouxe vinho, serviu-nos, e então retirou-se, deixando-nos a sós.
Conversamos por algum tempo. Contou-me todas as notícias desde que eu deixara Winchester; a construção que progredira e os planos futuros. Conversamos sobre o trabalho de Tremorinus em Caerleon e, finalmente, chegamos ao assunto da guerra. Perguntei-lhe quais eram as últimas sobre Pascentius, pois, disse-lhe eu, temos estado todas as semanas à espera de ouvir que ele desembarcou no Norte e está devastando os campos.
— Ainda não. De fato, se os meus planos derem resultado, talvez não ouçamos falar mais nada de Pascentius até a primavera, e então estaremos mais bem preparados. Se permitirmos que venha agora, talvez ele seja mais perigoso que qualquer inimigo que já tenhamos combatido até o momento.
— Ouvi falar disso. Refere-se às notícias da Irlanda?
— As notícias da Irlanda são ruins. Sabe que eles têm um rei novo, Gilloman? Um jovem dragão de fogo, ansioso por uma guerra. Bem, talvez tenha ouvido, dizem que Pascentius está noivo da irmã de Gilloman. Percebe o que isto poderia significar? Uma aliança como essa poderia pôr em risco todo o Norte e Oeste da Bretanha.
— Pascentius está na Irlanda? Ouvimos dizer que estava na Germânia angariando apoio.
— É verdade — disse ele. — Não consigo obter informação acurada sobre os seus efetivos, mas julgaria que tem uns vinte mil homens. Tampouco soube o que ele e Gilloman pretendem fazer. — Ergueu uma sobrancelha para mim, divertido. — Pode relaxar, rapaz, não o chamei aqui para pedir-lhe uma profecia. Fez-se muito claro em Kaerconan; contento-me em esperar, como você, pelo seu deus.
Ri-me.
— Eu sei. Quer-me para o que chama de trabalho de verdade.
— De fato. É isso. Não me satisfaz esperar aqui na Bretanha enquanto a Irlanda e a Germânia reúnem forças para desembarcar ao mesmo tempo em ambas as costas como uma tempestade de verão e reunirem-se para dominar o Norte. A Bretanha está situada entre os dois agora, e pode dividi-los antes mesmo que combinem atacar.
— E o senhor tomará a Irlanda primeiro?
— Gilloman — disse, acenando a cabeça. — Ele é jovem e inexperiente, e está também mais perto. Uther embarcará para a Irlanda antes do fim do mês. — Havia um mapa à sua frente. Virou-o um pouco para que eu pudesse ver. — Aqui. Este é o baluarte de Gilloman; deve ter ouvido falar, não duvido. É uma fortaleza na montanha chamada Killare. Não encontrei nenhum homem que a tivesse visto, mas ouvi dizer que é solidamente fortificada e pode ser defendida contra qualquer assalto. Disseram-me mesmo que jamais caiu. Ora, não podemos permitir que Uther se sente diante dela durante meses enquanto Pascentius entra pela porta dos fundos. Killare precisa ser tomada rapidamente e, pelo que dizem, isto não pode ser obtido pelo fogo.
— Sim? — Eu já notara que havia desenhos meus sobre a mesa entre os mapas e os planos.
Ele continuou pela tangente:
— Tremorinus elogia-o muito.
— É bondade dele. — E, saindo eu também pela tangente: — Encontrei Uther aí fora. Contou-me o que o senhor queria.
— Então irá com ele?
— Estou a seu serviço, naturalmente. Mas, senhor, — apontei para os desenhos, — não fiz desenhos novos. Tudo o que desenhei já foi construído aqui. E se não houver muita pressa...
— Não, isso não. Não estou pedindo nada de novo. As máquinas que temos são boas e deverão servir. O que construímos já está pronto para embarque. Quero-o para algo mais que isso. — Fez uma pausa. — Killare, Merlin, é mais do que um baluarte, é um lugar sagrado, o lugar sagrado dos Reis da Irlanda. Dizem que o cume da montanha tem uma Dança de Pedras, um círculo como o que você conheceu na Bretanha. E em Killare, dizem, está o coração da Irlanda e o lugar sagrado do reino de Gilloman. Quero que você, Merlin, arrase o lugar sagrado e arranque o coração da Irlanda.
Fiquei silencioso.
— Falei disso a Tremorinus — continuou Ambrosius — e ele me disse que seria preciso mandar buscar você. Você irá?
— Já disse que sim. Naturalmente.
Ele sorriu e agradeceu-me, não como se ele fosse o Suserano e eu um vassalo obedecendo ao seu desejo, mas como se eu fosse um igual a fazer-lhe um obséquio. Conversou um pouco mais a respeito de Killare, o que ouvira falar e os preparativos que julgava precisar fazer e finalmente, recostando-se, comentou com um sorriso:
— Uma coisa eu lamento. Vou a Maridunum e gostaria de ter a sua companhia, mas agora não há tempo para isso. Pode encarregar-me de quaisquer recados que queira.
— Muito obrigado, mas não tenho nenhum. E, se estivesse lá, dificilmente ousaria oferecer-lhe a hospitalidade de uma gruta.
— Eu gostaria de vê-la.
— Qualquer um poderá indicar-lhe o caminho. Mas não é digna de receber um rei.
Parei. Seu rosto estava iluminado por um riso que o fez parecer ter novamente vinte anos. Pousei a taça. _ Sou um tolo. Tinha-me esquecido.
— De que foi gerado lá? Pensei que tinha esquecido. Posso encontrar o caminho, não se incomode.
Falou então dos seus planos pessoais. Permaneceria em Caerleon "porque, se Pascentius atacar, meu palpite é que passará por aqui" — traçou uma linha no mapa com o dedo — "e posso apanhá-lo ao sul de Carlisle. O que me leva ao assunto seguinte. Havia mais uma coisa sobre a qual eu queria conversar com você. Quando passou a última vez por Caerleon a caminho de Maridunum em abril, creio que teve uma conversa com Tremorinus, não?
Aguardei.
— É a respeito disso. — Ergueu um maço de desenhos — não meus — e entregou-mos. Não eram do acampamento nem mesmo de quaisquer prédios que eu tivesse visto. Havia uma igreja, um grande salão, uma torre. Estudei-os por alguns minutos em silêncio. Por alguma razão sentia-me cansado como se meu coração fosse pesado demais para mim. A lâmpada fumegava e empalidecia, projetando sombras pelos papéis. Controlei-me e olhei para o meu pai.
— Compreendo. Deve estar falando de algum monumento? Ele sorriu.
— Sou bastante romano para querer um monumento visível.
Bati nos desenhos.
— E bastante britânico para querê-lo britânico? Sim, ouvi falar disso também.
— O que foi que Tremorinus comentou?
— Que se pensava que viria a ser erigido algum monumento às suas vitórias e em comemoração ao seu reinado sobre o país unido. Concordei com Tremorinus em que construir um arco triunfal aqui na Bretanha seria absurdo. Ele disse também que alguns eclesiásticos queriam uma grande igreja... o bispo de Caerleon, por exemplo, desejava-a aqui. Mas certamente, senhor, isso não daria certo. Se a construir em Caerleon, terá Londres e Winchester, para não mencionar York, pensando que deveria ter sido lá. De todas, suponho eu, Winchester seria a melhor. É a sua capital.
— Não. Já pensei nisso também. Quando vim de Winchester, passei por Amesbury... — Ele curvou-se de súbito para a frente. — O que houve, Merlin? Sente-se mal?
— Não. A noite está quente, é só. Uma tempestade se aproximando, creio eu. Continue. Passou por Amesbury.
— Sabia que era a minha cidade natal? Bem, pareceu-me que colocar o monumento lá não daria motivo a reclamações, e há outra razão por que seria uma boa escolha. — Ele franziu as sobrancelhas
— Você está branco como uma folha de papel. Tem certeza de que está bem?
— Perfeitamente. Talvez um pouco cansado.
— Já jantou? Fui desatento em não indagar.
— Comi no caminho, muito obrigado. Estou satisfeito. Talvez... mais um pouco de vinho.
Comecei a erguer-me, mas antes que me pusesse de pé ele já se levantara e dava a volta à mesa com a jarra, servindo-me ele próprio. Enquanto eu bebia, parou onde estava, junto a mim, re-costado contra a borda da mesa. Lembrou-me vividamente de quando ele fizera a mesma coisa, naquela noite na Bretanha em que eu o descobri. Lembro-me de manter a imagem no pensamento, e em pouco tempo fui capaz de sorrir.
— Estou bem, senhor, realmente estou. Por favor, continue. Dava-me a segunda razão para erigir o monumento em Amesbury.
— Provavelmente você sabe que não muito longe de lá estão enterrados os mortos britânicos assassinados pela traição de Hengist, Acho que é apropriado... e homem algum discutirá isso... que o monumento à minha vitória e à unificação do reino sob um único rei deva ser também um monumento à memória desses guerreiros.
— Parou. — E poderia ainda dizer que há uma terceira razão, mais forte que as outras duas.
Perguntei sem olhar para ele, mas para a taça de vinho, falando com suavidade:
— Que Amesbury já é o local do maior monumento de toda a Bretanha? Possivelmente o maior de todo o Ocidente?
— Ah! — Era uma exclamação de profunda satisfação. — Então seu pensamento também se volta para isso? Já viu a Dança dos Gigantes?
— De Amesbury fui até lá, quando estava a caminho de casa, vindo de Winchester.
Ele se ergueu e, contornando a mesa, voltou para sua cadeira. Sentou-se, curvou-se para a frente, as mãos pousadas na mesa.
— Então sabe o que estou pensando. Viu o bastante quando morava na Bretanha para saber o que a Dança deve ter sido. E viu como está agora: um caos de pedras gigantescas num lugar ermo açoitado pelo sol e pelo vento. — Acrescentou mais lentamente observando-me: — Falei disso a Tremorinus. Ele diz que homem algum teria o poder de erguer aquelas pedras.
Sorri.
— Mandou buscar-me então para que as erguesse para o senhor?
— Sabe que dizem que não foram homens que as ergueram, mas a magia.
— Então, disse eu — certamente dirão isso outra vez. Seus olhos estreitaram-se.
— Está-me dizendo que pode fazê-lo?
— Por que não?
Ele ficou silencioso, aguardando. O fato de não sorrir era a medida da fé que depositava em mim.
Eu disse:
— Oh, já ouvi as lendas que contam, as mesmas que eram contadas na Bretanha' Menor sobre as pedras aprumadas. Mas as pedras foram colocadas lá por homens, senhor. E o que homens colocaram uma vez, homens podem colocar de novo.
— Então, se eu não disponho de um mágico, ao menos possuo um engenheiro competente?
— Exato.
— Como fará isso?
— Até o momento sei menos da metade. Mas, se já foi feito antes, pode ser repetido.
— Então fará isso para mim, Merlin?
— Naturalmente. Não disse que estou aqui para servi-lo o melhor que puder? Reconstruirei a Dança dos Gigantes para o senhor.
— Um símbolo forte para a Bretanha. — Ele falou pensativo agora, franzindo um pouco o cenho e fitando as mãos. — Quero ser enterrado ali, Merlin, quando chegar a minha hora. O que Vortigern queria fazer pela sua cidadela na escuridão farei pela minha na luz; terei o corpo do Rei da Bretanha sepultado sob as pedras, o guerreiro sob o portal da Bretanha.
Alguém deve ter afastado as cortinas da porta. As sentinelas estavam fora de vista, o campo silencioso. O portal de pedra com o dintel atravessado emoldurava uma noite azul pontilhada de estrelas. À nossa volta as grandes sombras agigantavam-se, as pedras imensas, ligadas como árvores entrelaçadas, em que mãos há muito transformadas em ossos tinham gravado os símbolos dos deuses do ar, da terra e da água. Alguém falava mansamente — uma voz de rei. A voz de Ambrosius. E já falava há algum tempo. E eu ouvi, Vagamente, como um eco na escuridão:
— ... e enquanto o Rei jazer ali sob a pedra, o reino não cairá. Por tanto tempo e por mais tempo que antes, a Dança erguer-se-á outra vez, com a luz do céu vivo a iluminá-la. E eu trarei de volta a grande pedra para depositá-la sobre a sepultura, que será então o coração da Bretanha, e dali em diante os reis serão um só Rei e todos os deuses, um único Deus. E você viverá de novo na Bretanha por toda a eternidade, porque faremos entre nós um Rei cujo nome permanecerá por tanto tempo quanto a Dança se mantiver de pé, e ele será mais do que um símbolo: será um escudo e uma espada viva.
Não era a voz do Rei; era a minha própria. O Rei estava imóvel, sentado do outro lado da mesa juncada de mapas, as mãos paradas e espalmadas sobre os papéis, os olhos escuros sob as sobrancelhas retas. Entre nós a lâmpada enfraquecia, tremeluzindo na corrente de ar que entrava por baixo da porta.
Encarei-o e a minha visão foi clareando lentamente.
— Que disse eu?
Ele sacudiu a cabeça sorrindo e estendeu a mão para a jarra de vinho.
Exclamei, irritado:
— Isto me vem como um desmaio de moça grávida. Sinto muito. Conte-me o que eu disse.
— Deu-me um reino. E deu-me a imortalidade. O que mais existe? Beba agora, profeta de Ambrosius.
— Não vinho. Tem água?
— Aqui. — Ele ergueu-se. — Agora precisa ir dormir e eu também. Parto cedo para Maridunum. Tem certeza de que não quer enviar nenhum recado?
— Diga a Cadal para dar-lhe a cruz de prata com ametistas. Entreolhamo-nos em silêncio. Eu estava quase tão alto quanto ele. Disse-me, carinhoso:
— Então, agora é adeus.
— Como se diz adeus a um Rei a quem foi concedida a imortalidade?
Ele lançou-me um olhar estranho.
— Encontrar-nos-emos novamente?
— Encontrar-nos-emos novamente, Ambrosius.
Foi então que compreendi que eu profetizara a sua morte.
Killare, haviam-me dito, é uma montanha situada no centro exato da Irlanda. Há em outras partes da ilha montanhas que, embora não sejam tão grandes quanto as do nosso país, poderiam ainda merecer esse nome. Mas a colina de Killare não é uma montanha. É um outeiro suave e cônico, cujo pico não alcança, suponho eu, mais que cento e vinte metros. Nem ao menos é arborizada, mas coberta de relva e, aqui e ali, uma moita de espinheiros ou alguns carvalhos isolados.
Mesmo assim, erguendo-se onde se ergue, adquire a estatura de uma montanha para aqueles que dela se aproximam, pois se encontra isolada, uma elevação única no centro de uma vasta planície. Em todas as direções, sem a menor ondulação, o país estende-se plano e verdejante: norte, sul, este, oeste — é tudo o mesmo. Mas, não é verdade que se possa divisar toda a costa do seu topo; existe apenas uma vista interminável para todos os lados de um país verde e suave coberto por um céu nublado.
Até o ar é ameno, ali. Apanhamos ventos favoráveis e desembarcamos numa praia comprida e cinzenta numa manhã aprazível de verão com a brisa soprando da terra perfumada de mirta, tojos e relva úmida de sal. Os cisnes selvagens singravam os lagos, acompanhados de cisnezinhos, e os pavoncinos gritavam e corriam aos tropeções pela campina onde os filhotes se aninhavam entre os colmos.
Não era o tempo, nem o país, pensar-se-ia, para uma guerra. E, de fato, a guerra logo terminou. Gilloman, o Rei, era jovem — diziam que tinha menos de dezoito anos — e não queria dar ouvidos aos seus conselheiros e esperar o momento certo para enfrentar o nosso ataque. Tão exaltado era o seu coração, que às primeiras notícias do desembarque de tropas estrangeiras no solo sagrado da Irlanda, o jovem Rei reuniu seus guerreiros e lançou-os contra as tropas experimentadas de Uther. Encontraram-nos numa planície com uma montanha às nossas costas e um rio à deles. As tropas de Uther agüentaram o primeiro embate selvagem e corajoso sem ceder nem um passo do terreno, e então, por sua vez, avançaram com firmeza, atirando os irlandeses no rio. Felizmente para eles, era uma corrente larga e rasa e, embora se tenha tingido de vermelho aquela noite, muitas centenas de irlandeses escaparam. Gilloman, o Rei foi um deles, e quando soubemos que fugira para oeste com uni punhado de seguidores leais, Uther, adivinhando que ele se dirigia a Killare, enviou uma tropa montada de cem soldados ao seu encalço com instruções para apanhá-lo antes que alcançasse os portões. Isto fizeram, alcançando-o a menos de meia milha da fortaleza, ao pé da montanha e já à vista das muralhas. A segunda batalha foi curta e mais sangrenta que a primeira. Mas teve lugar à noite e, na confusão, Gilloman escapou mais uma vez e fugiu a galope com um punhado de homens. Desta vez ninguém soube para onde. Mas a coisa estava feita: na altura em que nós, o corpo principal do exército, chegamos ao sopé do monte Killare, as tropas britânicas já estavam de posse da fortaleza e os portões encontravam-se abertos. Muita tolice foi dita sobre o que aconteceu a seguir. Eu próprio ouvi algumas das canções e até li um relato transcrito para um livro. Ambrosius fora mal informado. Killare não era reforçada com grandes pedras: as fortificações externas eram as usuais de terra e paliçadas por trás de um largo fosso. No interior havia um segundo fosso, profundo, guarnecido de espigões. A fortaleza central era de fato de pedra, e das grandes, mas nada de que uma equipe normal, com as máquinas adequadas, não pudesse dar conta. No interior das paredes da fortaleza, havia casas, na sua maior parte construídas de madeira, mas também alguns pontos subterrâneos reforçados, como temos na Bretanha. Mais para o alto, um círculo interior, uma parede em torno do cume do monte como uma coroa na testa de um rei. E por dentro disso, no próprio centro e eixo da montanha, o lugar sagrado. Ali estava a Dança, o círculo de pedras que se dizia conter o coração da Irlanda. Não podia ser comparado à Grande Dança de Amesbury. Era apenas um círculo de pedras isoladas, bastante imponentes, que se erguiam ainda firmes, a maior parte delas intactas. Havia ainda duas pedras aprumadas perto do centro, onde jaziam outras, aparentemente sem um traçado definido, na relva alta.
Subi até lá naquela mesma noite, sozinho. A montanha parecia viva com a agitação e o vozerio, que se haviam tornado familiares a mim desde Kaerconan, como resultado da batalha. Mas, quando atravessei a muralha que cercava o lugar sagrado e emergi no alto da colina, era como se tivesse deixado a algazarra de um salão para a quietude de um quarto numa torre. Os sons dissipavam-se sob as paredes, e quando eu subia pela relva alta de verão havia quase silêncio, e eu estava só.
Uma lua redonda erguia-se no horizonte, pálida ainda, apagada pelas sombras, e fina numa das bordas como uma moeda gasta. Havia um punhado de pequenas estrelas, e aqui e ali estrelas pastoras a arrebanhá-las. Do lado oposto à lua uma grande estrela solitária brilhava, com uma luz branca. As sombras alongavam-se suaves sobre a relva.
Uma pedra alta erguia-se isolada, um pouco tombada para o leste. Pouco adiante, uma cova e mais além novamente uma pedra redonda que parecia negra à luz da lua. Havia alguma coisa ali. Parei. Nada a que eu pudesse dar nome, mas a própria pedra, velha e preta, parecia uma criatura escura, agachada ali na beira da cova. Senti um arrepio percorrer-me o corpo e voltei-me. Aquilo, eu não iria perturbar.
A lua subia comigo e, quando entrei no círculo, ergueu seu disco claro sobre as pedras de cima, iluminando todo o centro. Meus passos estalavam secos e quebradiços sobre um trecho do solo onde recentemente tinham acendido fogueiras. Vi as formas brancas dos ossos e uma pedra plana do formato de um altar. A claridade da lua deixava perceber os entalhes a um lado, formas grosseiras e retorcidas de cordas ou serpentes. Curvei-me para passar um dedo por elas. Próximo, um rato correu pela relva guinchando. Nenhum outro som. A coisa era limpa, morta e ímpia. Deixei-a, movendo-me vagarosamente entre as sombras produzidas pela lua. Havia outra pedra, abobadada como uma colméia ou uma pedra estufada. E ali um menir caído, o mato quase a cobri-lo. Ao passar por ele, ainda na minha busca, uma ondulação produzida pelo vento correu pela relva, toldando as sombras e empalidecendo a lua como uma névoa. Prendi o pé em alguma coisa, tropecei e caí de joelhos na extremidade de uma pedra longa e plana quase oculta pela relva. Minhas mãos apalparam-na. Era maciça, oblonga, sem entalhes, apenas uma grande pedra natural sobre a qual incidia agora o luar. Não havia necessidade do frio nas minhas mãos, do assovio da relva seca sob uma rajada súbita de vento, do perfume das margaridas para dizer-me que aquela era a pedra. Ao meu redor, como dançarinos afastando-se de um ponto central, as pedras erguiam-se negras e silenciosas. De um lado a lua branca, do outro o astro-rei, luzindo branco. Levantei-me lentamente e fiquei ali junto à pedra longa como alguém que estivesse ao pé de uma cama, à espera de que um homem morresse.
Foi o calor que me acordou, o calor e as vozes dos homens ao meu redor. Levantei a cabeça. Estava meio ajoelhado, meio deitado com os braços e a parte superior do corpo estendidos ao longo da pedra. O sol da manhã ia alto e incidia diretamente sobre o centro da Dança. A névoa erguia-se da relva úmida e suas guirlandas brancas ocultavam a parte mais baixa das encostas da montanha. Um grupo de homens passara por entre as pedras da Dança e encontrava-se de pé ali, murmurando e observando-me. Quando pisquei os olhos, movendo os membros entorpecidos, o grupo dividiu-se e Uther surgiu, seguido de meia dúzia dos seus oficiais, entre os quais se achava Tremorinus. Dois soldados empurravam entre si o que obviamente deveria ser um prisioneiro irlandês; as mãos deste estavam atadas e ele apresentava um talho na face onde o sangue secara, mas o homem sustinha-se bem e pensei que os que o guardavam pareciam mais amedrontados do que ele próprio.
Uther parou ao ver-me, e em seguida atravessou o círculo enquanto eu me punha de pé. Os efeitos da noite deveriam transparecer no meu rosto, pois no grupo de oficiais atrás dele percebi o olhar a que já me acostumara de homens a um só tempo desconfiados e admirados, e mesmo Uther falou num tom um pouco alto demais.
— Como então sua mágica é tão forte quanto a deles!
A claridade era forte demais para os meus olhos. Ele parecia vivido e irreal como uma imagem refletida na água corrente. Tentei falar, pigarreei e experimentei outra vez.
— Ainda estou vivo se é o que quer dizer. Tremorinus disse, rouco:
— Não há outro homem no mundo que pudesse passar a noite aqui.
— Com medo da pedra negra?
Vi a mão de Uther mover-se num gesto involuntário como se tivesse saltado sozinha para fazer o sinal. Percebeu que eu vira e pareceu zangado.
— Quem lhe falou da pedra negra?
Antes que eu pudesse responder, o irlandês exclamou:
— Você viu? Quem é você?
— Meu nome é Merlin.
Ele assentiu lentamente. Continuava a não demonstrar receio ou admiração. Leu meu pensamento e sorriu como a dizer "Você e eu podemo-nos cuidar sozinhos.”
— Por que o trazem aqui assim? — perguntei-lhe.
— Para dizer-lhe qual é a pedra-rei. Uther disse:
— Ele já nos disse. É o altar entalhado ali adiante.
— Deixem-no ir. Não têm necessidade dele. E deixem o altar em paz. Esta é a pedra.
Houve uma pausa. Então o irlandês riu-se.
— Pela fé, se vocês trazem o próprio mago do Rei, que esperanças pode ter um pobre poeta? Estava escrito nas estrelas que você a levaria, e, de fato, nada é mais justo. Essa pedra não tem sido o coração da Irlanda, mas a sua maldição e talvez a Irlanda esteja melhor em vê-la partir.
— Como assim? — indaguei. E então para Uther: — Mande soltá-lo.
Uther acenou e os homens soltaram as mãos do prisioneiro. Ele esfregou os pulsos, sorrindo para mim. Pensar-se-ia que estávamos os dois a sós na Dança.
— Dizem que em tempos passados a pedra saiu da Bretanha, das montanhas do oeste à vista do Mar Irlandês e que o grande Rei de toda a Irlanda, Fionn Mac Cumhaill era seu nome, carregou-a nos braços certa noite, atravessou o mar até a Irlanda e colocou-a aqui.
— E agora — disse eu — eu a levo de volta para a Bretanha um pouquinho mais penosamente.
Ele riu-se.
— Eu teria pensado que um grande mago como você a apanharia com uma só mão.
— Eu não sou Fionn — respondi. — E agora, se você for um poeta sensato, voltará para sua casa e para a sua harpa e não fará mais guerras, mas uma canção sobre a pedra, e como Merlin, o feiticeiro, retirou a pedra da Dança de Killare e a levou suavemente para a Dança das Pedras Pendentes de Amesbury.
Ele saudou-me, rindo ainda, e partiu. E de' fato atravessou a salvo o campo e saiu, pois anos mais tarde ouvi a canção que compusera.
Mas agora sua partida quase não foi notada. Fez-se uma pausa enquanto Uther franzia o cenho para a grande pedra, parecendo pesá-la na mente.
— Você disse ao Rei que poderia fazer isso? É verdade?
— Eu afirmei ao Rei que o que homens haviam trazido para cá homens poderiam levar.
Ele olhou-me com o sobrolho carregado, incerto, ainda um pouco zangado.
— Ele disse-me o que você falou. Concordo. Não é preciso mágica e palavras bonitas, mas apenas uma equipe de homens competentes com máquinas apropriadas. Tremorinus!
— Senhor!
— Se levarmos essa aí, a pedra-rei, não há necessidade de nos preocuparmos muito com as restantes. Derrube-as onde puder e deixe-as aí.
— Sim, senhor. Se eu pudesse ter Merlin...
— A equipe de Merlin estará trabalhando nas fortificações. Merlin, comece logo, sim? Dou-lhe vinte e quatro horas.
Aquilo era uma coisa na qual os homens estavam práticos; derrubamos as paredes e enchemos os fossos com elas. Quanto às paliçadas e casas, muito simplesmente, ateamos-lhes fogo. Os homens trabalhavam bem e com ânimo. Uther era sempre generoso com suas tropas e havia bens em quantidade para saquear: braceletes de cobre, bronze e ouro, broches e armas bem feitas e engastadas de cobre e esmalte como fazem os irlandeses. O trabalho estava terminado ao anoitecer e retiramo-nos da montanha para o acampamento provisório que fora montado na planície ao pé da encosta.
Foi depois da ceia que Tremorinus veio ter comigo. Eu podia ver archotes e fogueiras ainda no topo da montanha, a projetarem em relevo o que restara da Dança. Seu rosto estava sujo e ele parecia cansado.
— O dia todo — disse, amargurado. — E só conseguimos erguê-la alguns centímetros, e há meia hora atrás as escoras racharam e ela caiu de volta no leito. Por que diabos foi sugerir aquela pedra? O altar do irlandês teria sido mais fácil.
— O altar do irlandês não teria servido.
— Bem, pelos deuses, parece que não vai conseguir aquela, tampouco. Olhe, Merlin, não me importo com o que ele diz, estou encarregado dessa tarefa e peço-lhe que venha dar uma olhada. Venha, por favor.
O resto foi o que originou as lendas. Seria tedioso agora relatar como fizemos, mas foi bastante fácil: eu tivera o dia todo para pensar no assunto, tendo observado a pedra e a encosta, e trazendo na memória as máquinas desde a Bretanha. Onde foi possível, transportamo-la pela água, descendo o rio de Killare até o mar, daí para Gales e ainda até onde pudemos pelo rio, usando os dois grandes Avons com pouco mais de uma dezena de milhas a separá-los. Eu não era o Fionn do braço forte, mas, sim, Merlin e a grande pedra viajou para casa tão suavemente quanto uma barcaça em águas tranqüilas, comigo ao seu lado todo o tempo. Suponho que eu deva
ter dormido durante o percurso, mas não consigo lembrar-me disso. Segui acordado como alguém no leito de morte e naquela viagem, entre todas as de minha vida, não senti uma só vez o movimento do mar, mas permaneci sentado, dizem-me, calmo e calado como se estivesse na minha cadeira em casa. Uther veio uma vez falar comigo aborrecido, suponho, por ter eu executado com tanta facilidade o que os seus engenheiros não haviam conseguido, mas foi-se embora depois de alguns instantes e não voltou a se aproximar de mim. Não me lembro de nada disso. Creio que eu não estava presente. Observava imóvel, entre o dia e a noite, o grande quarto de Winchester.
As notícias alcançaram-nos em Caerleon. Pascentius atacara pelo norte com sua força composta de aliados germânicos e saxões e o Rei marchara para Carlisle, derrotando-o ali. Mas, depois, já a salvo em Winchester, caíra doente. Acerca disso os boatos eram muitos. Alguns diziam que os homens de Pascentius tinham penetrado, disfarçados, em Winchester, onde Ambrosius guardava o leito com um resfriado, e lhe haviam dado veneno a beber. Outros diziam que os homens eram de Eosa. Mas a verdade era a mesma: o Rei estava muito mal em Winchester.
O astro-rei ergueu-se novamente aquela noite, parecendo, disseram os homens, um dragão de fogo acompanhando qual fumaça uma nuvem de estrelas menores. Mas eu não precisava de sinal algum para dizer-me o que já sabia desde aquela noite na crista do Killare, quando jurara carregar da Irlanda a grande pedra para depositá-la na sua sepultura.
Assim foi que trouxemos a pedra de volta a Amesbury e eu reergui os círculos caídos da Dança dos Gigantes nos lugares primitivos para o seu monumento. E na Páscoa seguinte, na cidade de Londres, Uther Pendragon foi coroado Rei.
LIVRO V - A VINDA DO URSO
Disseram mais tarde que o grande meteoro que apareceu no dia da morte de Ambrosius e do qual Uther tirou o nome real de Pendragon foi um presságio funesto para o novo reino. E de fato, a princípio, tudo parecia estar contra Uther, como se a queda da estrela de Ambrosius fosse um sinal para os seus velhos inimigos rebelarem-se de novo e avançarem de todos os cantos escuros da terra para destruir o seu sucessor. Com a morte de Ambrosius, Octa, filho de Hengist, e Eosa, seu primo, considerando-se livres da promessa de permanecer ao norte das suas fronteiras, convocaram as forças que puderam para um ataque, e assim que a convocação foi expedida, todos os elementos malquerentes sublevaram-se também. Guerreiros germânicos cobiçosos de terras e saque reapareceram, os restos dos saxões de Pascentius reuniram-se aos irlandeses de Gilloman em fuga e a todos os outros britânicos que se julgavam preteridos pelo novo Rei. Algumas semanas depois da morte de Ambrosius, Octa, com um grande exército, devastava o Norte como um lobo1 e, antes que o Rei pudesse aparecer para enfrentá-lo, destruía cidades e fortalezas desde a Muralha de Adriano até York. Em York, a cidadela de Ambrosius, ele encontrou os muros em bom estado, os portões fechados e os homens dispostos a defenderem-se. Arrastou as máquinas de assédio que possuía e instalou-se para esperar.
Devia saber que Uther o alcançaria ali, mas seus efeitos eram tais que não demonstrava receio algum pelos britânicos. Mais tarde calcularam que possuísse trinta mil homens. Seja como for, quando Uther surgiu para levantar o cerco com os homens que conseguira reunir, os saxões excediam os britânicos para mais de dois por um. Foi um encontro sangrento e desastroso. Eu próprio achei que a morte de Ambrosius abalara o reino; com toda a reputação brilhante de Uther como soldado, este ainda não provara possuir qualidades de comandante supremo e já era sabido que não possuía a calma e o julgamento do irmão em face das probabilidades. O que lhe faltava em sabedoria era compensado pela bravura, mas nem mesmo isso poderia superar as dificuldades que enfrentou aquele dia em York. Os britânicos tiveram suas linhas rompidas e fugiram sendo salvos apenas pela chegada da noite que àquela altura do ano ocorria cedo. Uther, com Gorlois de Cornwall, seu segundo em comando, conseguiu reunir as forças que restavam no alto de um pequeno monte chamado Damen. Era bastante íngreme e oferecia certa forma de proteção, como penhascos, grutas e um bosque denso de aveleiras, mas que representava apenas um refúgio temporário contra as hostes saxônicas que em triunfo cercavam a base da montanha à espera do amanhecer. Era uma posição desesperada a dos britânicos e exigia medidas desesperadas. Uther, sombrio, acampou numa gruta, reuniu os capitães fatigados enquanto os homens arrebanhavam o resto que encontravam, e discutiram exaustivamente um plano para lograr o grande exército que os esperava no sopé da montanha. A princípio ninguém pensava em nada, exceto na necessidade de escapar, mas alguém, ouvi mais tarde dizer que foi Gorlois, apontou que recuar mais seria apenas adiar a derrota e a destruição do novo reino; se a fuga era possível, o ataque também o era, e este parecia viável se os britânicos não esperassem até clarear o dia, mas usassem o elemento surpresa que poderia haver num ataque morro abaixo encoberto pela escuridão e muito antes do que pensava o inimigo. Tática simples na realidade, que os saxões poderiam ter esperado de homens tão desesperadamente acuados, não fossem, os saxões, guerreiros pouco inteligentes e, como já comentei, faltos de disciplina. Era quase certo que não esperavam movimento algum antes da alvorada e dormiram profundamente onde se haviam deitado aquela noite, confiantes na vitória, e com alguma sorte três quartos bêbedos com o estoque que traziam.
Para fazer justiça aos saxões, Octa postara batedores e estes estavam bem acordados. Mas o plano de Gorlois deu certo, auxiliado pela neblina que antes do amanhecer se erguia como um véu das terras baixas que circundavam a montanha. Em meio a isso, gigantescos, e em número ilusório, os britânicos desceram silenciosos, atacando rápidos no primeiro momento de luz suficiente para ver o caminho por entre os penhascos. As sentinelas saxônicas que não foram mortas em silêncio deram o alarme, mas tarde demais. Os guerreiros acordavam praguejando, agarrando as armas onde as haviam deixado, mas os britânicos, quebrado o silêncio, lançaram-se aos gritos aos inimigos meio adormecidos, liquidando-os. Terminou tudo antes do meio-dia, e Octa e Eosa foram aprisionados. Antes do inverno, com o Norte livre dos saxões e os compridos barcos queimados ainda a fumegar lentamente nas praias, Uther regressou a Londres com os prisioneiros atrás de grades, para preparar-se para a coroação na primavera seguinte.
Sua batalha contra os saxões, a quase-derrota e subseqüente vitória brilhante e eficiente, era tudo de que o reino precisava. Os homens esqueceram a calamidade da morte de Ambrosius e falavam do novo Rei como de um sol que raiava. Seu nome estava na boca de todos, desde os nobres e guerreiros que o cercavam em busca de presentes e honrarias até os trabalhadores que construíam seus palácios e mesmo as damas da corte que exibiam vestidos como campos de papoulas de uma cor chamada vermelho Pendragon.
Vi-o apenas uma vez naquelas primeiras semanas. Encontrava-me ainda em Amesbury, superintendendo o trabalho da construção da Dança dos Gigantes. Tremorinus estava no Norte, mas tinha sob o meu comando uma boa equipe, e depois da sua experiência com a pedra-rei em Killare, os homens estavam ansiosos para atacar as pedras maciças da Dança. Para erguer as verticais, uma vez alinhadas as pedras, cavadas as covas e enterradas as guias, não havia nada que não pudesse ser feito com uma corda, uma cábrea e fio-de-prumo. Era nos grandes dintéis que residiam as dificuldades, mas o milagre da construção da Dança já fora realizado há milhares de anos pelos velhos artesãos que entalharam aquelas pedras gigantescas para encaixarem umas nas outras como a madeira preparada por um mestre carpinteiro. Só precisávamos descobrir o meio de erguê-las. Era nisso que me havia exercitado todos aqueles anos desde que vira pela primeira vez os dolmens da Bretanha Menor e começara a calcular. Tampouco havia esquecido o que aprendera nas canções. No fim, eu desenhara um berço de madeira do tipo que um engenheiro moderno teria considerado tosco mas que — como testemunhou o meu cantador — já executara esse trabalho antes e o faria de novo. Era uma tarefa morosa, mas funcionava. E suponho que era uma visão maravilhosa apreciar aqueles imensos blocos erguerem-se passo a passo, assentando finalmente nos seus leitos tão suavemente como se tivessem sido fabricados de sebo. Foram precisos duzentos homens para mover cada pedra, equipes treinadas que trabalhavam em grupos marcando o ritmo como fazem os remadores, com música. O ritmo do movimento era, naturalmente, estabelecido pelo trabalho, e as músicas eram velhas canções que eu me lembrava da infância; minha ama costumava cantá-las, mas nunca com as palavras que os homens às vezes lhes emprestavam. Essas eram vivas, indecentes e intensamente pessoais, na sua maioria referentes às pessoas em altos cargos. Nem Uther nem eu fomos poupados, embora as canções não fossem entoadas deliberadamente para que eu as ouvisse. Além disso, quando havia gente de fora presente, as palavras ou eram corretas ou ininteligíveis. Ouvi dizer, muito tempo depois, que eu movera as pedras da Dança por meio de magia e de música. Suponho que poderíamos aceitar ambas como verdadeiras. Tenho pensado, desde então, que deve ter sido assim que se originou a história de que Febo Apoio construiu com música as muralhas de Tróia. Mas a magia e a música que moveram a Dança dos Gigantes eu as compartilhava com o cantador cego de Kerrec. Por volta dos meados de novembro as geadas tornaram-se fortes e o trabalho terminou. A última fogueira do acampamento foi apagada e a última carroça de homens e materiais rolou para o sul, de volta a Sarum. Cadal partira à minha frente para Amesbury. Demorei um pouco mais, segurando o meu cavalo desassossegado, até que o último vagão desapareceu de vista na borda da planície e fiquei só.
O céu cobria a planície silenciosa como uma abóbada de alpaca. Ainda era cedo, e a relva estava coberta de geada branca. O sol pálido de inverno pintava sombras alongadas nas pedras ligadas. Lembrei-me da pedra aprumada, da geada branca, do touro e do sangue e do jovem deus sorridente de cabelos claros. Baixei os olhos para a pedra. Haviam-no enterrado, eu sabia, com a espada na mão. Disse-lhe:
— Voltaremos, nós dois, no solstício de inverno. Então saí, montei o cavalo e parti para Amesbury.
Chegaram notícias de Uther em dezembro: deixara Londres rumo a Winchester para o Natal. Enviei-lhe uma mensagem, não recebi resposta e parti mais uma vez com Cadal para o local onde a Dança dos Gigantes se erguia coberta de gelo, solitária no centro da planície. Estávamos a vinte de dezembro.
Numa depressão do solo, logo adiante da Dança, amarramos nossos cavalos e acendemos uma fogueira. Receara que a noite fosse nublada, mas estava fria e clara com estrelas em grande quantidade, como grãos de poeira ao luar.
— Veja se consegue dormir um pouco, apesar do frio — disse Cadal. — Acordarei você antes do amanhecer. O que o faz pensar que ele virá? — E quando não respondi: — Bem, você é o mago, deve saber. Aqui, no caso de sua magia não conseguir fazê-lo adormecer, é melhor agasalhar-se com mais uma capa. Eu o acordarei em tempo, não se preocupe.
Obedeci, enrolando-me nas duas capas de lã, e deitei-me junto à fogueira com a cabeça sobre a sela. Cochilei mais do que dormi, consciente dos pequenos ruídos da noite, cercado pela vastidão silenciosa da planície; os estalidos do fogo, Cadal pondo novos gravetos para mantê-lo aceso, o arrancar contínuo da relva pelos cavalos que pastavam perto, o pio da coruja caçando no céu da noite. E então, pouco antes do amanhecer, o som que eu esperava: as pancadas firmes na terra sob a minha cabeça denunciando a aproximação de cavalos.
Sentei-me. Cadal, de olhos vermelhos, falou lentamente:
— Ainda tem uma hora pelos meus cálculos.
— Não faz mal. Já dormi. Ponha o ouvido no chão e diga-me o que ouve.
Ele abaixou-se, escutou talvez durante cinco pulsações, então ergueu-se e correu para os nossos cavalos. Os homens reagiam rapidamente naqueles dias ao som de cavaleiros à noite.
Parei-o.
— Está tudo bem. É Uther. Quantos cavalos você calcula?
— Vinte, talvez trinta. Tem certeza?
— Toda. Agora sele os cavalos e fique com eles. Vou entrar. Era aquela hora, entre a noite e a manhã, em que tudo fica muito quieto. Eles vinham a galope. Toda a planície gelada parecia sacudir com o tropel. A lua desaparecera. Esperei junto a uma pedra.
Ele deixou a escolta a alguma distância e prosseguiu apenas com um companheiro. Eu não pensava que ele já me tivesse visto, embora devesse ter percebido o brilho amortecido da fogueira de Cadal. A noite estava bastante clara com o brilho das estrelas. Eles cavalgavam sem archotes e sua visão noturna era boa. Os dois vinham num meio-galope acelerado diretamente para o círculo exterior da Dança, e a princípio pensei que entrariam a cavalo por ela. Mas os cavalos pararam resvalando e partindo o gelo, e o Rei desmontou. Ouvi um tilintar quando atirou as rédeas ao companheiro. "Mantenha-o em movimento", ouvi-o dizer, e então se aproximou, uma sombra apressada entre as enormes sombras da Dança.
— Merlin?
— My lord?
— Você escolhe horas estranhas. Tinha que ser no meio da noite?
Ele parecia bem acordado e não menos gentil que o normal. Mas viera.
— O senhor queria ver o que foi feito aqui e esta é a noite em que posso mostrar-lhe. Estou agradecido porque tenha vindo.
— Mostrar-me o quê? Uma visão? É mais um dos seus sonhos? Previno-o...
— Não. Não há nada disso aqui, não agora. Mas há algo que queria que o senhor visse e só pode ser apreciado esta noite. Para isso, receio que tenhamos de esperar um pouco mais.
— Muito mais? Está frio 1
— Não muito, my lord. Até o amanhecer.
Entre mim e ele encontrava-se a pedra-rei, e à luz fraca das estrelas vi que olhava para ela de cabeça baixa, a mão alisando o queixo.
— A primeira vez em que você esteve ao lado desta pedra de noite, dizem que teve visões. Agora contaram-me em Winchester que quando ele estava morrendo, falou com você como se estivesse presente no seu quarto, postado aos pés da cama. É verdade?
— É.
Sua cabeça voltou-se bruscamente.
— Você diz que sabia em Killare que meu irmão estava à morte, e no entanto nada me disse?
— Não adiantaria nada. O senhor não poderia ter voltado mais cedo por sabê-lo doente. Como foi, fez uma viagem com a mente tranqüila e em Caerleon, quando ele morreu, informei-o.
— Pelos deuses, Merlin, não lhe cabia julgar se deveria falar ou não! Você não é o Rei. Deveria ter-me dito.
— Tampouco o senhor era rei, Uther Pendragon. Agi conforme ele ordenou.
Vi-o fazer um movimento rápido e aquietar-se.
— Isto é fácil de dizer. — Mas pelo tom da voz eu sabia que ele acreditava, e respeitava a mim e ao lugar. — E agora que estamos aqui à espera do amanhecer, e do que quer que deseje mostrar-me, acho que uma ou duas coisas precisam ficar claras entre nós. Não pode servir-me como serviu ao meu irmão. Precisa saber disso. Não quero nenhuma das suas profecias. Meu irmão estava errado quando disse que poderíamos trabalhar juntos pela Bretanha. As nossas estrelas não combinam. Admito que o julguei com dureza na Bretanha e em Killare; sinto muito, mas agora já é tarde. Seguimos caminhos diferentes.
— Sim. Eu sei.
Disse isso sem nenhuma ênfase especial, simplesmente concordando, e fiquei surpreso quando ele riu baixinho para si mesmo. Uma mão, não sem carinho, pousou-me no ombro.
— Então compreendemos um ao outro. Eu não pensava que seria tão fácil. Se soubesse como isso é animador, depois de passar semanas com homens exigindo auxílio, arrastando-se a pedir clemência, suplicando favores... E agora o único homem no reino que tem realmente algum direito sobre mim segue o próprio caminho e deixa-me seguir o meu!
— Naturalmente. Os caminhos se cruzarão, mas não de pronto. Então trabalharemos juntos, quer queiramos ou não.
— Veremos. Você tem poder. Admito-o, mas de que me serve isso? Não preciso de sacerdotes. — Sua voz era firme e amistosa, como se desejasse afastar a estranheza da noite. Ele era terra-a-terra, era Uther. Ambrosius teria compreendido o que eu dizia, mas Uther já estava de volta à trilha humana como um cão farejando sangue. - Parece que já me serviu bastante bem em Killare e aqui com as Pedras Pendentes. Merece alguma coisa de mim, quando mais não fosse por isso.
— Onde possa, estarei ao seu serviço. Se me quiser, sabe onde encontrar-me.
— Não na minha corte?
— Não. Em Maridunum. É o meu lar.
— Ah, sim, a famosa gruta! Você merece um pouco mais, penso eu.
— Não há nada que eu queira — respondi-lhe.
Havia um pouco mais de claridade agora. Vi-o lançar-me um olhar de esguelha.
— Falei com você esta noite, como nunca falei a homem algum. Condena-me pelo passado, Merlin bastardo?
— Nada tenho contra o senhor, my lord.
— Nada?
— A moça em Caerleon. Poderia chamá-la de nada. Vi-o arregalar os olhos.
— Quando?
— Não importa. Já terá esquecido, de qualquer forma.
— Pelo cão, eu o julguei mal. — Falou o mais calorosamente que eu já o tinha visto falar. Se ele soubesse, pensei, ter-se-ia rido.
— Digo-lhe que não faz mal. Não fez então, e menos ainda agora.
— Ainda não me disse por que me arrastou até aqui a esta hora. Olhe para o céu; está amanhecendo e ainda bem, os cavalos estão-se resfriando. — Ergueu a cabeça na direção do leste. — Deverá fazer um dia bonito. Será interessante constatar que espécie de trabalho você fez aqui. Posso dizer-lhe agora que Tremorinus insistia, até a hora em que recebi sua mensagem, que não poderia ser feito. Profeta ou não, você tem a sua utilidade, Merlin.
A luz aumentava e as trevas recuavam, cedendo-lhe passagem. Eu o via mais claramente agora, de pé, a cabeça erguida, a mão mais uma vez alisando o queixo.
— Foi melhor que o senhor tivesse vindo à noite para que eu reconhecesse sua voz. Não o teria reconhecido à luz do dia. Deixou crescer a barba.
— Pareço mais rei, não? Não houve tempo para mais durante a campanha. Quando chegamos a Humber... — Começou a contar-me, falando pela primeira vez, desde que eu o conhecera, à vontade e naturalmente. Talvez fosse porque agora eu era de todos os seus vassalos o único parente, e o sangue fala ao sangue, dizem-Relatou a campanha no Norte, a luta, a destruição fumegante que os saxões haviam deixado à sua passagem. — E agora, passaremos o Natal em Winchester. Serei coroado em Londres na primavera, e já...
— Espere. — Eu não pretendia interrompê-lo, mas havia coisas a me pressionarem, o peso do céu, a luz ofuscante. Não havia tempo para procurar palavras que pudessem ser usadas como um rei. Disse rapidamente: — Está vindo agora. Fique ao meu lado aos pés da pedra.
Afastei-me um passo e postei-me ao pé da comprida pedra-rei, de frente para o leste que explodia. Não tinha olhos para Uther. Ouvi-o tomar fôlego como que aborrecido, então controlar-se e voltar-se num refulgir de jóias e num clarão da malha para pôr-se ao meu lado. Aos seus pés alongava-se a pedra.
No leste, a noite desaparecia, afastando-se como um véu, e raiava o sol. Direto como um archote ao ser arremessado, ou uma flecha de fogo, a luz rasgou o céu cinzento, traçando uma linha nítida do horizonte à pedra-rei aos nossos pés. Durante talvez vinte batidas do coração, o enorme trílito permaneceu diante de nós, escuro e rígido, emoldurando a claridade de inverno. Então o sol se ergueu no horizonte, tão rápido que eu podia ver a sombra do círculo entrelaçado mover-se para o interior da longe elipse, toldar-se e apagar-se quase imediatamente à luz clara do alvorecer de inverno.
Olhei para o Rei. Seus olhos abertos inexpressivos estavam postos na pedra aos nossos pés. Não conseguia ler seus pensamentos. Então, ergueu a cabeça e olhou para o outro lado, para o círculo exterior onde as grandes pedras se erguiam unidas contra a luz. Afastou-se de mim um passo, lentamente, e girou os calcanhares, contemplando todo o círculo das Pedras Pendentes. Reparei que a sua nova barba era avermelhada e ondulada; ele usava o cabelo mais comprido e um círculo de ouro brilhava no seu elmo. Os olhos eram azuis como a fumaça à luz da manhã.
Encontraram os meus, finalmente.
— Não admira que você sorria. É muito impotente.
— Isto é um alívio — respondi. — Os cálculos disso mantiveram-me acordado semanas seguidas.
— Tremorinus contou-me. — Lançou-me um olhar vagaroso, medindo-me. — Também me contou o que você lhe disse.
— O que eu disse?
— Sim. "Adornarei a sepultura dele com a própria luz."
Fiquei calado.
Continuou lentamente:
— Afirmei que nada sabia de profetas ou sacerdotes. Sou apenas um soldado e penso como um soldado. Mas isto — e que você fez aqui — é algo que posso compreender. Talvez haja lugar para nós dois, afinal. Já falei que vou passar o Natal em Winchester. Quer voltar comigo?
Era uma pergunta e não uma ordem. Falávamos por cima da pedra. Era o começo de algo, mas algo que eu ainda desconhecia. Sacudi a cabeça.
— Na primavera, talvez. Gostaria de ver a coroação. Esteja certo de que, quando precisar de mim, estarei lá. Mas agora preciso ir para casa.
— Para a sua toca no chão? Bem, se é o que quer... Suas necessidades são poucas, sabe-o Deus. Há alguma coisa que queira pedir-me? — Abrangeu num gesto o círculo silencioso. — Os homens falariam mal de um rei que não o recompensasse por isso.
— Já fui recompensado.
— E em Maridunum? A casa do seu avô seria mais apropriada. Quer?
Sacudi a cabeça.
— Não quero uma casa. Mas ficaria com a montanha.
— Então fique com ela. Dizem-me que já a chamam de Monte Merlin. E agora já está completamente claro e os cavalos devem estar com frio. Se algum dia tivesse sido soldado, Merlin, saberia que há uma coisa mais importante que as sepulturas dos reis: não deixar os cavalos parados?
Bateu-me no ombro mais uma vez, voltou-se com um rodopio da capa escarlate e encaminhou-se para o cavalo que esperava. Fui procurar Cadal.
Quando a Páscoa chegou, eu ainda não tinha intenção de deixar Bryn Myrddin (Uther, fiel a sua palavra, dera-me a montanha onde se encontrava a gruta, e as pessoas já associavam o seu nome a mim e não ao deus, chamando-a de Monte Merlin), mas veio uma mensagem do Rei chamando-me a Londres. Dessa vez era uma ordem, e não um pedido, e tão urgente que o Rei mandava uma escolta para evitar qualquer demora em que eu pudesse incorrer à espera de companhia.
Ainda não era seguro, naquela época, partir para longe em grupos menores que doze ou mais pessoas, e viajava-se armado e preocupado. Os homens que não podiam ter uma escolta própria esperavam até que se formasse um grupo, e os mercadores até se reuniam para pagar guardas que os acompanhassem. As partes mais selvagens da terra achavam-se ainda cheias de refugiados do exército de Octa, de irlandeses que não tinham conseguido voltar para casa, e de saxões perdidos que tentavam miseravelmente disfarçar a pele clara e que eram caçados sem piedade quando fracassavam nesse disfarce. Rondavam a periferia das fazendas, escondendo-se nas montanhas, pântanos e lugares ermos, fazendo sortidas rápidas e ferozes à procura de comida, e vigiando a estrada à espera de algum viajante solitário e mal armado, por mais pobre que fosse. Qualquer um com capa ou sandálias era um homem rico que valeria a pena despojar.
Nada disso me teria impedido de viajar só com Cadal de Maridunum a Londres. Nenhum fora-da-lei ou ladrão enfrentaria o meu olhar, nem se arriscaria a uma maldição. Desde os acontecimentos em Dinas Brenin, Killare e Amesbury minha fama espalhara-se, crescendo em lenda e canção até que se tornou difícil reconhecer os meus próprios feitos. Dinas Brenin também recebera novo nome; tornara-se Dinas Emrys tanto em homenagem a mim como para comemorar o desembarque de Ambrosius e a cidadela que ele construíra ali com sucesso. Eu passava tão bem como quando vivera no palácio do meu avô ou na casa de Ambrosius. Ofertas de comida e vinho eram deixadas diariamente em baixo da gruta e os pobres, que nada tinham a oferecer-me em troca dos remédios que eu lhes dava, traziam combustível ou palha para a cama do cavalo, ou o seu próprio trabalho para tarefas de construção ou a confecção de peças simples de mobília. Assim, o inverno passara em conforto e paz até que num dia claro, no início de março, um mensageiro de Uther, deixando a escolta na cidade, subiu o vale.
Era o primeiro dia seco depois de mais de uma semana de chuva e vento cortante, e eu subira a montanha, acima da gruta, para procurar plantas e símplices em primeira brotação. Parei à beira de um grupo de pinheiros para observar o cavaleiro solitário que subia a montanha a meio-galope. Cadal deve ter ouvido o tropel; vi-o pequenino lá embaixo sair da gruta, cumprimentar o homem e apontar o braço indicando para que lado eu seguira. O mensageiro mal parou, meteu as esporas no cavalo e veio atrás de mim.
Parou a alguns passos de distância, desmontou entorpecido da sela, fez o sinal e aproximou-se.
Era um rapaz de cabelos castanhos, mais ou menos da mesma idade que eu, cujo rosto me era vagamente familiar. Devo tê-lo visto por perto, à roda da comitiva de Uther, em alguma parte. Estava salpicado de lama até às sobrancelhas, e onde não estava enlameado seu rosto apresentava-se branco de cansaço. Devia ter apanhado um cavalo descansado em Maridunum para a última etapa porque o animal estava lépido e indócil e vi o rapaz fazer uma careta quando o mesmo levantou a cabeça repuxando as rédeas.
— My lord Merlin. Trago-lhe saudações do Rei, em Londres.
— Sinto-me honrado — respondi formalmente.
— Ele pede a sua presença na festa da coroação. Mandou-lhe uma escolta, my lord. Os homens da escolta estão na cidade, enquanto descansam os cavalos.
— Você disse "pede"?
— Deveria ter dito "ordena", my lord. Ele disse-me que deveria trazê-lo de volta imediatamente.
— Foi só essa a mensagem?
— Nada mais disse, my lord. Apenas que deveria ir ter com ele em Londres imediatamente.
— Naturalmente que irei. Amanhã cedo, quando tiverem descansado os cavalos?
— Hoje, my lord. Agora.
Foi uma pena que a ordem arrogante de Uther tivesse sido transmitida daquela maneira ligeiramente escusatória. Olhei para ele.
— Veio diretamente a mim?
— Sim, my lord.
— Sem descansar?
— Sim.
— Quanto tempo levou até aqui?
— Quatro dias, my lord. Este cavalo é novo. Estou pronto a voltar hoje mesmo. — A isso o animal sacudiu a cabeça outra vez e percebi-o franzir o rosto.
— Está machucado?
— Nada de importante. Caí ontem e machuquei o pulso. É o direito e não a mão do freio.
— Não, apenas a mão da adaga. Desça à gruta, repita ao meu criado o que me contou e diga-lhe para dar a você comida e bebida. Quando descer, cuidarei do seu pulso.
Ele hesitou.
— My lord, o Rei tem urgência. Isto é mais do que um convite para assistir à coroação.
— Você terá de esperar que o meu criado arrume as minhas coisas e sele os cavalos. E também que eu coma e beba. Posso amarrar o seu pulso em alguns minutos. E, enquanto faço isso, poderá contar-me as notícias de Londres e dizer-me por que o Rei ordena que parta com tanta urgência para a festa. Desça agora; seguirei dentro em pouco.
— Mas, senhor...
— Até que Cadal tenha preparado a comida para nós três eu estarei lá embaixo. Agora vá.
Ele lançou-me um olhar duvidoso, então foi-se, escorregando pela encosta molhada e arrastando o cavalo relutante atrás dele. Ajeitei o casaco em torno do corpo para proteger-me do vento e prossegui para a extremidade do pinheiral, fora das vistas da gruta.
Fiquei de pé na ponta do contraforte rochoso onde os ventos batiam livremente pelo vale rasgando-me a capa. Atrás de mim os pinheiros rangiam e as amoreiras silvestres desfolha, das junto à gruta de Galapas chocalhavam. Uma narceja madrugadora piava no ar cinzento. Ergui o rosto para o céu e pensei em Uther e em Londres e na ordem que acabara de chegar. Mas nada havia ali exceto o céu, os pinheiros, o vento e as amoreiras. Olhei para o outro lado, na direção de Maridunum.
Daquela altura eu via toda a cidade, pequenina como um brinquedo, à distância. O vale apresentava um verde sombrio ao vento de março. O rio ondulava, cinzento sob o céu cinzento. Uma carroça atravessava a ponte. Havia um pontinho de cor onde o estandarte flutuava no alto da fortaleza. Um barco deslizava rápido rio abaixo, as velas enfunadas pelo vento. As montanhas, ainda na sua púrpura invernal, mantinham o vale aconchegado como quando alguém segura entre as mãos um globo de vidro.
O vento atirou-me água aos olhos e a cena toldou-se. O globo de cristal estava frio nas minhas mãos. Olhei para ele. Pequena e perfeita no centro do cristal, estava a cidade com a ponte, o rio em movimento, e o minúsculo barco a deslizar. Ao seu redor os campos subiam, destorcendo-se nas paredes curvas até que campos, céu, rio, e nuvens envolviam a cidade onde as pessoas caminhavam apressadas, como folhas e sépalas seguram um botão antes que desabroche em flor. Parecia que todo o campo, todo o País de Gales, toda a Bretanha poderiam ser seguros, pequeninos, brilhantes e protegidos entre as minhas mãos como alguma coisa presa no âmbar. Contemplei a terra envolta em cristal e compreendi que era para isso que eu nascera. A hora era aquela e eu precisava aproveitá-la.
O globo de cristal derreteu-se nas minhas mãos em concha e transformou-se no punhado de plantas que eu colhera, frias de chuva. Deixei-as cair e ergui as mãos para limpar a água dos olhos. A cena abaixo mudara: a carroça e o barco tinham desaparecido e a cidade estava imóvel.
Desci para a gruta e encontrei Cadal ocupado com as panelas, enquanto o rapaz pelejava com as selas dos cavalos.
— Deixe isso aí — disse-lhe eu. — Cadal, temos água quente?
— Bastante. Aqui vai uma partida e meia, ordens do Rei. Londres, não é? — Cadal parecia satisfeito e eu não podia culpá-lo. — Já era tempo para uma mudança, se me permite. O que acha que é? Ele — indicou com a cabeça o rapaz — não parece saber, ou então não quer dizer. Problemas, pelo jeito.
— Talvez. Logo saberemos. Aqui, é melhor enxugar isto. — Dei-lhe a minha capa, sentei-me junto ao fogo e chamei o rapaz. — Deixe-me ver esse seu braço agora.
Seu pulso estava roxo da pancada, inchado, e obviamente dolorido ao toque, mas os ossos estavam inteiros. Enquanto ele se lavava, preparei uma compressa e amarrei-a no pulso. Ele me observava apreensivo e tendia a afastar-se ao meu toque e não apenas, pensei eu, devido à dor. Agora que a lama fora removida e eu podia vê-lo melhor, a sensação de conhecê-lo persistia ainda mais forte. Encarei-o por cima das ataduras.
— Eu o conheço, não?
— O senhor não se lembraria de mim, my lord. Mas eu me lembro do senhor. Foi bondoso comigo certa vez.
Ri-me.
— Foi uma ocasião tão rara assim? Qual é o seu nome?
— Ulfin.
— Ulfin? Era um nome conhecido... Espere um instante. Sim, já sei. O menino de Belasius?
— Sim. Lembra-se de mim?
— Perfeitamente. Aquela noite na floresta, quando o meu pônei ficou manco e você teve de levá-lo para casa. Suponho que andasse por perto todo o tempo, mas era tão conspícuo quanto um rato do campo. É a única vez que me lembro. Belasius está aqui para a coroação?
— Está morto.
Alguma coisa no seu tom de voz me fez olhá-lo de esguelha por cima do pulso enfaixado.
— Odiava-o tanto assim? Não, não responda, adivinhei isso na época, embora eu fosse criança. Bem, não vou perguntar-lhe por quê. Os deuses sabem que eu próprio não gostava dele, e eu não era escravo dele. O que aconteceu?
— Morreu de febres, my lord.
— E você conseguiu sobreviver a ele? Parece-me lembrar alguma coisa a respeito de um costume antigo e bárbaro...
— O Príncipe Uther tomou-me a seu serviço. Estou com ele agora... com o Rei.
Ele falou rapidamente, desviando o olhar. Percebi que era tudo o que eu conseguiria saber.
— Ainda tem tanto medo do mundo, Ulfin?
Mas ele não quis responder a isso. Terminei de enfaixar-lhe o pulso.
— Bem, é um lugar selvagem e violento, e os tempos são cruéis. Mas, vão melhorar e acho que você irá ajudar nessa tarefa. Pronto, terminei. Agora arranje alguma coisa para comer. Cadal, lembra-se de Ulfin? O menino que levou Aster para casa na noite em que encontramos a tropa de Uther em Nemet?
— Pelo cão, é mesmo... — Cadal olhou-o de alto a baixo. — Está com o aspecto bem melhor do que então. O que aconteceu ao druida? Morreu de maldição? Vamos apanhar alguma coisa para comer. O seu está aqui, Merlin, e veja se, para variar, come o suficiente para ser humano e não apenas o necessário para manter um dos seus pássaros vivos.
— Tentarei — disse humildemente, e então ri-me da expressão no rosto de Ulfin ao olhar de mim, para o meu criado, e de volta para mim.
Dormimos aquela noite numa estalagem perto da encruzilhada onde a estrada sai rumo ao norte para Five Hill e a mina de ouro. Comi sozinho no meu quarto, servido por Cadal. Nem bem a porta se fechara atrás do criado que levava os pratos, Cadal voltou-se para mim, obviamente estourando de notícias.
— Bem, há um bonito romance em Londres, pelo que dizem.
— Já era de esperar — disse eu suavemente. — Ouvi alguém dizer que Budec está lá, com a maioria dos reis da outra margem do Mar Estreito, e que quase a metade dos nobres do Rei trouxeram as filhas com os olhos voltados para o lado vazio do trono. — Ri-me.
— Isto deve convir a Uther.
— Dizem que já terminou com metade das moças de Londres
— comentou Cadal, colocando um prato à minha frente. Era carneiro galés, com um bom molho de cebolas, quente e gostoso.
— Diriam qualquer coisa dele. — Comecei a servir-me. — Poderia até ser verdade.
— Sim, mas seriamente, há problemas à vista, dizem. Problemas com mulheres.
— Oh, meu Deus, Cadal, poupe-me! Uther nasceu para ter problemas com mulheres.
— Não, falo sério. Os homens da escolta estava conversando e não admira que Ulfin nada dissesse. É problema grave. A mulher de Gorlois.
Levantei os olhos, surpreso.
— A Duquesa de Cornwall? Não pode ser verdade.
— Não é verdade ainda. Mas dizem que não é por falta de insistir.
Bebi o vinho.
— Pode estar certo de que é apenas boato. Ela tem menos da metade da idade do marido e ouvi dizer que é bonita. Suponho que Uther lhe dê alguma atenção, sendo o duque seu segundo em comando, e os homens aumentem a coisa, sendo Uther quem é... e o que é.
Cadal descansou os punhos na mesa e olhou para mim. Estava extremamente solene.
— Atenção, é? Dizem que não sai de perto dela. Manda-lhe os melhores pratos da mesa todos os dias e ela é servida primeiro, mesmo antes dele; brinda à saúde dela diante de todos no salão cada vez que ergue a taça. Não se fala de outra coisa de Londres a Winchester. Dizem que estão fazendo apostas nas cozinhas.
— Não duvido. E Gorlois tem alguma coisa a dizer?
— Tentou não ligar a princípio, dizem, mas a coisa chegou a tal ponto que ele não poderia continuar a fingir que não estava notando. Tentou fazer parecer que Uther prestava uma homenagem aos dois, mas quando puseram Lady Ygraine (é o nome dela) sentada à direita de Uther, e o velho seis lugares adiante, do outro lado...
Ele fez uma pausa. Eu disse preocupado:
— Ele deve estar louco. Não pode permitir-se problemas ainda, problemas de ordem alguma, muito menos com Gorlois. Pelos deuses, Cadal, foi Cornwall quem ajudou Ambrosius a entrar no país, e Cornwall quem colocou Uther onde está agora. Quem ganhou a batalha de Damen Hill para ele?
— Dizem isso também.
— Dizem realmente? — Refleti um momento, franzindo o cenho. — E a mulher? O que dizem dela, além das coisas sórdidas de costume?
— Que ela pouco fala, e cada dia fala menos. Não duvido de que Gorlois tenha bastante o que dizer-lhe à noite, quando estão a sós. De qualquer forma, dizem que mal levanta os olhos em público agora, para evitar encontrar o olhar do Rei encarando-a sobre a borda da taça, ou debruçando-se na mesa para espreitar seu decote.
— Isso é o que eu chamo de coisa sórdida, Cadal. Perguntei que tal ela?
— Bem, isso é exatamente o que não comentam, exceto que é calada e linda como isto, aquilo e aquilo outro. — Endireitou-se. — Oh, ninguém diz que ela o encoraja. E Deus sabe que não há necessidade de Uther agir como um homem faminto à vista de um prato de comida; poderia ter o prato cheio qualquer noite que quisesse. Pode-se dizer que não há uma só moça em Londres que não esteja tentando atrair-lhe o olhar.
— Acredito. Ele brigou com Gorlois? Abertamente, quero dizer?
— Não que eu ouvisse. De fato, tem sido exageradamente cordial e conseguiu levar muito bem a coisa na primeira semana; o velho estava desvanecido. Mas, Merlin, isto parece mesmo um problema: ela tem a metade da idade de Gorlois e passa metade do tempo trancada num daqueles frios castelos de Cornwall sem nada para fazer exceto tecer suas capas de guerra, e sonhar. E você pode ter certeza de que não é com um velho de barbas grisalhas.
Empurrei o prato para o lado. Lembro-me de que ainda me sentia totalmente despreocupado com o que Uther estava fazendo. Mas o último comentário de Cadal chegou próximo demais para minha tranqüilidade. Tinha havido uma outra moça, certa vez, que nada tinha a fazer exceto sentar-se em casa e tecer e sonhar...
Eu disse abruptamente:
— Está bem, Cadal. Fico satisfeito em saber. Só espero que possamos manter-nos fora disso. Já vi Uther doido por uma mulher antes, mas sempre foram mulheres que ele podia obter. Isto é suicídio.
— Louco, você disse. É o que estão dizendo também — continuou Cadal lentamente. — Enfeitiçado, dizem. — Olhou para mim de esguelha. — Talvez tenha sido por isso que mandou o jovem Ulfin naquela correria para ter certeza de que você iria a Londres. Talvez o queira lá para quebrar o feitiço?
— Eu não quebro — disse, breve. — Faço.
Ele encarou-me por um momento, fechando a boca sobre o que aparentemente ia dizer. Então voltou-se para erguer a jarra de vinho. Ao me servir, vi que sua mão esquerda fazia o sinal. Não falamos mais naquela noite.
Assim que cheguei diante de Uther, vi que Cadal tinha razão. O problema era sério.
Chegamos a Londres na véspera da coroação. Era tarde e os portões da cidade encontravam-se fechados, mas devia haver ordens a nosso respeito, pois passamos sem demoras e fomos levados diretamente para o castelo onde estava o Rei. Mal me deram tempo para despir as roupas enlameadas e fui conduzido ao quarto dele. Os criados retiraram-se imediatamente, deixando-nos a sós.
Uther estava pronto para dormir, num robe longo de veludo marrom orlado de peles. A cadeira alta encontrava-se junto às achas chamei antes da lareira, e no banquinho ao lado da cadeira havia um par de taças e um jarro com tampa de prata de onde a fumaça saía lenta em espirais. Senti o perfume do vinho de especiarias assim que entrei no quarto e a minha garganta seca contraiu-se anelante, mas o Rei não fez menção de oferecer-me. Não estava sentado ao pé do fogo. Caminhava desassossegado para lá e para cá, como um animal enjaulado, e atrás dele, passo a passo, seguia um cão-lobo.
Quando a porta se fechou à passagem dos criados, exclamou abruptamente, como fizera uma vez antes:
— Demorou bastante.
— Quatro dias? Deveria ter mandado cavalos melhores.
Aquilo o fez parar. Não esperava que eu respondesse. Mas continuou bastante suave.
— Eram os melhores dos meus estábulos.
— Então deveria ter arranjado cavalos alados, se queria uma velocidade maior do que a fizemos, my lord. E homens mais fortes. Deixamos dois pelo caminho.
Mas ele já não ouvia. Voltando aos seus pensamentos, retomou o passeio intranqüilo, enquanto eu o observava. Perdera peso e movia-se rápido e leve como um lobo faminto. Os olhos estavam
fundos por falta de sono e ele apresentava maneirismos que eu nunca notara antes; não conseguia manter as mãos paradas, torcia-as às costas, estalando as juntas dos dedos ou alisava as pontas do robe ou da barba.
Falou-me por cima do ombro:
— Quero a sua ajuda.
— Assim entendi. Ele voltou-se a isso.
— Já sabe? Ergui os ombros.
— Ninguém fala de outra coisa senão o desejo do Rei pela mulher de Gorlois. Entendo que não tenha feito nenhuma tentativa de escondê-lo. Mas já se passou uma semana desde que mandou Ulfin buscar-me. Durante esse tempo o que aconteceu? Gorlois e a esposa ainda estão aqui?
— Naturalmente que estão aqui. Não podem partir sem o meu consentimento.
— Compreendo. Alguma coisa foi dita entre você e Gorlois?
— Não.
— Mas ele deve saber.
— Dá-se o mesmo com ele que comigo. Se essa coisa chegar às palavras, nada poderá pará-las. E a coroação é amanhã. Não posso falar com ele.
— Ou com ela?
— Não. Não. Ah, meu Deus! Merlin, não consigo chegar perto dela. Está guardada como Danae.
Franzi o cenho.
— Ele a mantém sob guarda, então? Decerto isso é suficientemente estranho para constituir uma admissão pública de que há algo errado?
— Só quis dizer que seus criados andam a volta dela, e seus homens. Não apenas a sua guarda pessoal — muitas das tropas guerreiras que estiveram conosco no Norte ainda se encontram aqui. Só posso chegar perto dela em público, Merlin. Devem ter-lhe contado isso.
— Sim. Conseguiu enviar-lhe algum recado secretamente?
— Não. Ela se protege. Passa todo o dia com as damas, e os criados guardam as portas. E ele... — Fez uma pausa. Havia suor no seu rosto. — Ele fica com ela a noite toda.
Afastou-se novamente com um rodopio do robe de veludo e caminhou com passos leves por todo o comprimento do quarto até às sombras, para além da claridade do fogo. Então voltou. Estendeu as mãos e falou com a simplicidade de um menino.
— Merlin, o que farei?
Atravessei até à lareira, apanhei a jarra e enchi duas taças com o vinho de especiarias. Estendi uma para ele.
— Para começar, sente-se. Não posso falar com um pé-de-vento. Aqui.
Ele obedeceu, afundando-se na grande cadeira com a taça entre as mãos. Bebi o meu vinho, agradecido, e sentei-me do outro lado da lareira.
Uther não bebeu. Creio que mal sabia o que tinha entre as mãos. Contemplava o fogo através da fumaça que saía do copo.
— Assim que ele a trouxe para apresentá-la, eu soube. Deus sabe que a princípio pensei que se tratava de uma febre passageira, do tipo que já tive milhares de vezes, só que desta vez milhares de vezes mais forte...
— E curou-se — disse eu — numa noite, numa semana de noites, num mês. Não sei qual foi o maior tempo que uma mulher conseguiu segurá-lo, Uther, mas será um mês, ou mesmo três meses o suficiente para se deixar destruir um reino?
O olhar que ele me lançou, azul como um relampejo de espada, era o do velho Uther que eu lembrava.
— Por Hades, para que acha que mandei buscá-lo? Poderia ter destruído o meu reino a qualquer momento nestas últimas semanas se tivesse querido. Por que acha que isso ainda não ultrapassou a loucura? Oh, sim, admito que tenho estado louco, mas afirmo-lhe que é uma febre, e não é do tipo que já tive antes e consegui curar. Isso me consome tanto que não consigo dormir. Como posso governar e lutar e lidar com os homens se não consigo dormir i
— Já levou uma moça para a cama? Ele me encarou e então bebeu.
— Está louco?
— Desculpe-me, foi uma pergunta tola. E não dorme nem mesmo assim?
— Não. — Pousou a taça a um lado, e entrelaçou as mãos. — Não adianta. Nada adianta. Você precisa trazê-la para mim, Merlin. Você tem artes. É por isso que mandei buscá-lo. Deve trazê-la para mim de forma que ninguém saiba. Faça-a amar-me. Traga-a aqui enquanto ele dorme. Você pode fazê-lo.
— Fazer com que o ame? Minha magia? Não, Uther, isto é algo que a magia não pode fazer. Você deve saber isso.
— É algo que toda velha jura que pode fazer. E você... você tem mais poder que qualquer homem vivo. Ergueu as Pedras Pendentes. Ergueu a pedra-rei quando Tremorinus falhou.
— A minha matemática é melhor, é só. Pelo amor de Deus, Uther, a despeito do que os homens digam daquilo, você sabe como foi feito. Não houve mágica.
— Você falou com o meu irmão quando ele morreu. Vai negar isso agora?
— Não.
— Ou que jurou servir-me quando eu precisasse?
— Não.
— Preciso de você agora. Do seu poder, do que quer que seja. Ousa afirmar-me que não é um mago?
— Não sou do tipo que pode atravessar paredes — disse eu — e transportar corpos através de portas fechadas. — Ele fez um movimento súbito e vi o brilho febril dos seus olhos, desta vez não de raiva, mas, pensei, de dor. Acrescentei-lhe: — Mas não me recusei a ajudá-lo.
Seus olhos faiscaram.
— Vai ajudar-me?
— Sim, ajudá-lo-ei. Disse-lhe da última vez que nos encontramos que chegaria uma época em que precisaríamos trabalhar juntos. É esta, agora. Não sei ainda o que será preciso fazer, mas isso me será revelado, e o resultado caberá ao deus. Mas uma coisa posso fazer por você esta noite. Posso fazê-lo dormir. Não, fique quieto e ouça... Se vai ser coroado amanhã, e tomar a Bretanha nas mãos, esta noite fará como digo. Prepararei uma bebida que o adormecerá e levará uma moça para a cama como de costume. Será melhor se houver mais alguém, além do seu criado, que jure que esteve no seu próprio quarto.
— Por quê? O que vai fazer? Sua voz estava tensa.
— Tentarei falar com Ygraine.
Ele sentou-se para a frente, a mão comprimindo o braço da cadeira.
— Sim. Fale com ela. Talvez você possa vê-la onde eu não posso. Diga a ela...
— Um momento. Há poucos instantes disse-me para fazer com que ela o amasse. Quer que invoque qualquer poder que haja para trazê-la a você. Se você nunca lhe falou do seu amor, nem viu a moça senão em público, como sabe que ela viria a você, mesmo que o caminho estivesse livre? Os pensamentos dela estarão claros para você?
— Não. Ela nada diz. Sorri com os olhos no chão e nada diz. Mas eu sei. É como se todas as outras vezes que eu tivesse brincado de amor fossem apenas notas isoladas. Juntas, fazem uma canção. Ela é a canção.
Fez-se silêncio. Por trás dele, sobre um estrado no canto do quarto, havia uma cama com as cobertas puxadas, pronta. Acima, galgando a parede, um grande dragão em ouro vermelho. À luz do fogo movia-se, esticando as garras.
Ele disse de súbito:
— Da última vez que falamos, no meio das Pedras Pendentes, disse-me que nada queria de mim. Mas, por todos os deuses, Merlin, se me ajudar agora, se eu a obtiver, e em segurança, então pode pedir o que quiser. Juro.
Sacudi a cabeça e não disse mais nada. Acho que ele percebeu que eu já não pensava nele; que outras forças me pressionavam, enchendo o quarto. O dragão flamejava e refulgia na parede escura. Na sua sombra, outra movia-se, fundindo as chamas nas chamas. Algo me atingiu os olhos, uma dor como uma garra. Fechei-os e havia silêncio. Quando os abri novamente, o fogo morrera e a parede estava escura. Olhei para o Rei, na sua cadeira, observando-me. Disse-lhe lentamente:
— Pedir-lhe-ei uma coisa agora.
— Sim!
— Que quando a trouxer para você em segurança, você lhe fará um filho.
O que quer que ele esperasse, não era isso. Encarou-me e então de repente riu-se.
— Isto é com os deuses, certamente?
— Sim, é com Deus.
Ele recostou-se na cadeira como se um peso tivesse sido levantado dos seus ombros.
— Se eu chegar a ela, Merlin, prometo-lhe que farei o que estiver no meu poder. E qualquer outra coisa que me peça. Até dormirei esta noite.
Ergui-me.
— Então vou preparar a bebida e mandá-la-ei para você.
— E irá vê-la?
— Irei vê-la. Boa noite.
Ulfin estava meio adormecido de pé, do lado de fora da porta. Piscou os olhos quando eu saí.
— Devo entrar agora?
— Num minuto. Venha ao meu quarto primeiro e lhe darei uma bebida para ele. E veja que ele a tome. É para fazê-lo adormecer. Amanhã será um dia longo.
Havia uma moça adormecida a um canto, envolta numa manta azul sobre uma pilha de travesseiros. Ao passarmos, vi a curva do seu ombro nu e uma cascata de cabelos lisos castanhos. Parecia muito jovem.
Ergui as sobrancelhas para Ulfin e ele assentiu, então virou a cabeça na direção da porta com uma indagação no olhar.
— Sim — respondi. — Mais tarde. Quando levar a bebida. Deixe-a, dormindo, por hora. Parece que você próprio também está precisando dormir.
— Se ele dormir esta noite, talvez eu também possa dormir. — Deu a sombra de um sorriso para mim. — Faça-a forte, sim, my lord? E gostosa.
— Oh, ele beberá, não tenha receio.
— Eu não estava pensando nele — disse Ulfin. — Estava pensando em mim.
— Oh, você! Ah, compreendo, você se refere ao fato de que terá de prová-la primeiro?
Ele assentiu.
— Tem de provar tudo? As refeições? Até poções de amor?
— Poções de amor? Para ele? — Arregalou os olhos, boquiaberto. Então riu-se. — Oh, está brincando!
Sorri.
— Queria ver se você sabia rir. Aqui estamos. Espere agora. Não demorará um minuto.
Cadal estava à minha espera junto à lareira do quarto. Era um quarto confortável na curva da parede da torre, e Cadal mantivera o fogo avivado e um grande caldeirão de água a ferver sobre a grade de ferro. Tinha separado uma camisa de lã para mim e estendera-a pronta sobre a cama.
Numa arca, junto à janela, encontrava-se uma pilha de roupas, um brilho de ouro, púrpura e peles.
— O que é aquilo? — perguntei ao sentar-me para deixar que ele me tirasse os sapatos.
— O Rei enviou uma roupa para amanhã, my lord. — Cadal, com um olho no menino que preparava o banho, mantinha-se formal. Notei que as mãos do menino tremiam um pouco e a água respingou no chão. Assim que terminou, obediente a uma inclinação da cabeça de Cadal, saiu correndo.
— O que há com o menino?
— Não é toda noite que se prepara o banho de um mago.
— Pelo amor de Deus! O que andou dizendo a ele?
— Só que você transformaria num morcego se ele não o servisse bem.
— Tolo! Não, um momento, Cadal! Traga a minha caixa. Ulfin está esperando aí fora. Prometi preparar uma bebida.
Cadal obedeceu-me.
— O que foi que houve? O braço dele ainda está ruim?
— Não é para ele. Para o Rei.
— Ah! — Não fez mais nenhum comentário, mas quando a coisa estava pronta e Ulfin saíra e eu me despia para o banho, ele perguntou. — Está tão mal como dizem?
— Pior. Dei-lhe uma versão resumida da minha conversa com o Rei.
Ele me ouviu de cenho franzido.
— E o que há a fazer agora?
— Descobrir uma maneira de ver a senhora. Não, não a camisa; ainda não. Traga-me uma roupa limpa, alguma coisa escura.
— Certamente não poderá ir vê-la esta noite? Já passa da meia-noite.
— Não vou a parte alguma. Quem quer que venha virá a mim.
— Mas Gorlois estará com ela...
— Chega por ora, Cadal. Quero pensar. Deixe-me. Boa noite.
Quando a porta se fechou, atravessei para a cadeira ao pé da lareira. Não era verdade que eu quisesse tempo para pensar. Só precisava do silêncio e de fogo. Aos pouquinhos esvaziei a mente, sentindo o pensamento esvair-se de mim como a areia de um vidro, deixando-me vazio e leve. Esperei, as mãos frouxas sobre a roupa cinzenta, abertas, vazias. Estava tudo muito quieto. De algum ponto num canto escuro do quarto chegou-me o estalido seco da madeira velha assentando. O fogo piscava. Contemplei-o, mas distraído como qualquer homem observaria as chamas por conforto numa noite fria. Não precisava sonhar. Deitei-me como uma folha morta, sobre a maré que corria aquela noite ao encontro do mar.
Do lado de fora da porta, surgiram vozes de repente. Uma batida breve no painel e Cadal entrou fechando a porta atrás de si. Parecia cauteloso e um tanto apreensivo.
— Gorlois? — perguntei. Ele engoliu e concordou.
— Bem, mande-o entrar.
— Ele perguntou se tinha ido ver o Rei. Disse-lhe que você estava aqui há menos de duas horas, e não tivera tempo de ver ninguém. Fiz bem?
Sorri.
— Você foi guiado. Deixe-o entrar agora.
Gorlois entrou apressado e ergui-me para cumprimentá-lo. Operara-se, pensei, uma mudança tão grande nele quanto a que eu notara em Uther: seu grande corpo estava curvado e pela primeira vez via-se de imediato que estava velho.
Ele repeliu a cerimônia do meu cumprimento.
— Não está deitado ainda? Disseram-me que havia chegado.
— Em tempo para a coroação, mas vê-la-ei, afinal. Quer sentar-se, my lord?
— Não, muito obrigado. Vim pedir o seu auxílio, Merlin, para minha esposa. — Seus olhos rápidos espreitaram-me sob as sobrancelhas cinzentas. — Sim, ninguém poderia dizer o que você está pensando, mas soube, não?
— Fala-se — respondi cauteloso — mas sempre se falou de Uther. Não ouvi ninguém aventurar sequer uma palavra contra sua esposa.
— Por Deus, é melhor que não o façam! No entanto, não é por isso que vim esta noite. Não há nada que possa fazer quanto a isso, embora você seja a única pessoa capaz de meter algum juízo na cabeça do Rei. Não vai chegar perto dele agora até a hora da coroação, mas se pudesse fazer com que nos deixasse partir para Cornwall sem esperar pelo fim da festa... Faria isso por mim?
— Se puder.
— Eu sabia que podia contar com você. Com as coisas do jeito que estão na cidade neste momento, é difícil saber quem é amigo. Uther não é um homem fácil de se contradizer. Mas você poderia fazer isso, e o que é mais, teria coragem para fazê-lo. É bem filho do seu pai, e por amor a ele...
— Eu disse que farei.
— O que há? Sente-se mal?
— Não é nada. Estou cansado. Fizemos uma viagem longa. Verei o Rei de manhã cedo, antes que saia para a coroação.
Ele fez um breve aceno de agradecimento.
— Não é a única coisa que vim pedir-lhe. Pode ir ver minha esposa hoje à noite?
Houve uma pausa de completo silêncio, tão prolongada que achei que ele deveria ter notado. Então respondi:
— Se quiser, sim. Por quê?
— Está doente, é por isso, e gostaria que fosse vê-la, se pudesse. Quando as damas lhe contaram que estava aqui em Londres, pediu-me que mandasse buscá-lo. Afirmo-lhe que fiquei agradecido em saber que você viera. Não há muitos homens em quem possa confiar agora, e isto é a verdade de Deus. Mas confio em você.
Junto a mim, uma acha caiu no centro do fogo. As chamas ergueram-se, salpicando seu rosto de vermelho, como sangue.
— Você virá? — perguntou o velho.
— Claro. — Desviei o olhar dele. — Irei imediatamente.
Uther não exagerara ao dizer que Lady Ygraine estava bem guardada. Ela e o marido estavam instalados num paço a alguma distância a oeste dos aposentos reais e o paço encontrava-se tomado pelos soldados de Cornwall. Havia soldados na antecâmara também e meia dúzia de mulheres no próprio quarto de dormir. Ao entrarmos, a mais velha delas, uma senhora grisalha de expressão ansiosa, adiantou-se precipitadamente, o alívio a iluminar-lhe o rosto.
— Príncipe Merlin!
Ajoelhou-se, olhando-me com respeito e conduziu-me até à cama.
O quarto estava quente e perfumado. As lâmpadas queimavam azeite-doce e o fogo fora aceso com toras de macieira. A cama achava-se ao centro da parede oposta à lareira. Os travesseiros eram de seda cinza com borlas douradas e a manta ricamente bordada de flores, animais estranhos e criaturas aladas. O único outro quarto de mulher que eu vira fora de minha mãe, com uma cama simples de madeira, uma arca de carvalho com entalhes e o tear, e mosaicos rachados no chão.
Segui-a e parei aos pés da cama, olhando para a mulher de Gorlois.
Se me tivessem perguntado, então, qual o seu aspecto, eu não saberia dizer. Cadal dissera-me que era bonita e eu vira a fome no rosto do Rei, daí concluir que fosse desejável; mas, de pé no quarto perfumado, contemplando a mulher deitada nos travesseiros de seda cinzenta, com os olhos cerrados, não foi mulher que eu vi. Tampouco o quarto com gente. Vi apenas os clarões e a pulsação da luz como num globo de cristal.
Falei sem tirar os olhos da mulher na cama.
— Uma das mulheres fique aqui. O resto pode sair. O senhor também, por favor, my lord. — Ele saiu sem objeção, arrebanhando as mulheres à sua frente como um bando de ovelhas. A mulher que me saudara permaneceu junto à cama da sua senhora. Quando a porta se fechou, a mulher na cama abriu os olhos. Encaramo-nos por alguns minutos. Então perguntei:
— O que quer de mim, Ygraine?
Ela respondeu com firmeza, sem fingimentos:
— Mandei buscá-lo, Príncipe, porque quero o seu auxílio. Assenti.
— No caso do Rei. Ela disse sem rodeios:
— Já sabe então? Quando meu marido o trouxe aqui, já sabia que eu não estava doente?
— Imaginei.
— Então pode também imaginar o que quero de você?
— Não exatamente. Diga-me, não poderia de alguma forma ter falado ao próprio Rei antes? Teria poupado alguma coisa a ele e ao seu marido também.
Seus olhos arregalaram-se.
— Como poderia falar ao Rei? Você atravessou o pátio?
— Sim.
— Então viu as tropas e os soldados do meu marido. O que acha que teria acontecido se eu tivesse falado a Uther? Não poderia responder-lhe abertamente, e se me tivesse encontrado com ele em segredo — mesmo que pudesse fazê-lo — metade de Londres o saberia em menos de uma hora. Naturalmente eu não poderia falar-lhe nem enviar-lhe uma mensagem. A única proteção era o silêncio.
Falei lentamente:
— Se a mensagem dissesse simplesmente que você era uma esposa sincera e fiel e que ele devia voltar os olhos para outros lados, então poderia ter sido entregue a qualquer hora e por qualquer mensageiro.
Ela sorriu. Então baixou a cabeça. Tomei fôlego.
— Ah! Era isso que eu queria saber. Você é honesta, Ygraine.
— Que adianta mentir-lhe? Ouvi falar de você. Oh, não acredito em tudo o que dizem nas canções e nas histórias, mas sei que é inteligente, frio e sábio, e dizem que não ama mulher alguma e não está comprometido com homem algum. Então pode ouvir e julgar.
— Olhou para as mãos pousadas na manta e de novo para mim.
— Mas acredito que possa ver o futuro. Quero que me diga qual é o meu futuro.
— Não predigo o futuro como fazem as velhas. Foi por isso que mandou buscar-me?
— Sabe por que mandei buscá-lo. É o único homem com quem posso falar em particular sem provocar a fúria e a suspeita do meu marido — e você tem os ouvidos do Rei. — Embora fosse apenas uma mulher jovem deitada na cama e eu de pé, diante dela, parecia uma rainha concedendo uma audiência. Olhou diretamente para mim: — O Rei já lhe falou?
— Ele não tem necessidade de falar comigo. Todos sabem o que o atormenta.
— E dirá a ele o que acabou de saber de mim?
— Isto dependerá.
— De quê? — perguntou ela. Respondi lentamente:
— De você mesma. Até agora mostrou-se sensata. Se tivesse sido menos cautelosa nas suas maneiras ou em conversa, teriam surgido problemas e até mesmo uma guerra. Entendo que você nunca permitiu que por um só momento do seu tempo estivesse sozinha ou desprotegida; teve cuidado também de estar sempre onde pudesse ser vista.
Ela fitou-me por um instante em silêncio, as sobrancelhas erguidas.
— Naturalmente.
— Muitas mulheres... especialmente desejando o que deseja... não teriam sido capazes disso, Lady Ygraine.
— Eu não sou "muitas mulheres". — Suas palavras eram um relampejo. Sentou-se de repente, atirando para trás o cabelo escuro e afastando as cobertas. A dama velha apanhou um longo robe azul e correu para ela. Ygraine vestiu-o sobre a camisola branca e pulou da cama, caminhando inquieta até à janela.
De pé, era alta para uma mulher, com uma silhueta que poderia ter perturbado homens mais sérios que Uther. Seu pescoço era longo e fino, a cabeça assentada graciosamente. O cabelo escuro descia-lhe solto pelas costas. Os olhos eram azuis, não o azul faiscante de Uther, mas o azul-escuro, profundo, dos celtas. A boca era orgulhosa. Era muito linda e não serviria de joguete para homem algum. Se Uther a quisesse, pensei, teria de fazê-la rainha.
Ela parará um pouco antes da janela. Se se tivesse aproximado mais, teria sido vista do pátio. Não, não era uma senhora que perdesse a cabeça.
Voltou-se.
— Sou filha de um rei e descendo de linhagem real. Não vê que devo ter sido forçada até mesmo a pensar da maneira que estou pensando agora? — Repetiu, apaixonada. — Não vê? Casei aos dezesseis anos com o Senhor de Cornwall. Ele é um bom homem: eu o honro e respeito. Até chegar em Londres estava meio satisfeita em passar fome e morrer lá em Cornwall, mas ele trouxe-me para cá, e aconteceu. Agora sei o que preciso ter, mas está além das minhas forças, além das forças da esposa de Gorlois de Cornwall. Portanto, o que mais quer que eu faça? Não há nada a fazer senão esperar aqui e calar-me, porque do meu silêncio depende não apenas a minha própria honra, a do meu marido e a da minha casa, mas a segurança de um reino pelo qual Ambrosius morreu, e que o próprio Uther acabou de selar com sangue e fogo.
Virou para dar dois passos rápidos e voltou-se novamente.
— Não sou nenhuma Helena ordinária por quem homens lutem, morram, destruam reinos. Não fico à espera no alto das muralhas como um prêmio ao vencedor forte. Não posso desonrar, assim, Gorlois e o Rei aos olhos dos homens. E não posso ir ter com ele secretamente desonrando-me aos meus próprios olhos. Sou uma mulher doente de amor, sim, mas sou também Ygraine de Cornwall.
Disse eu friamente:
— Então pretende esperar até que possa entregar-se a ele com honra, como sua Rainha?
— Que mais posso fazer?
— Era essa a mensagem que. eu devo transmitir? Ela ficou calada.
— Ou mandou buscar-me para que predissesse o seu futuro? Para dizer-lhe quanto tempo viverá seu marido?
Continuou calada.
— Ygraine, — disse eu, — as duas coisas darão no mesmo. Se eu transmitir a Uther a mensagem de que o ama e o deseja, mas que não irá ter com ele enquanto seu marido viver, quanto tempo de vida profetiza para Gorlois?
Ainda assim permaneceu calada. O dom do silêncio também, pensei. Eu estava de pé entre ela e a lareira. Observei a luz ao seu redor, subindo pela camisa branca e o robe azul, a luz e a sombra ondeando para o alto como água a mover-se ou relva agitada pelo vento. Uma chama ergueu-se e a minha sombra saltou sobre ela e cresceu, subindo com a pulsação da luz para encontrar-se com a dela, de maneira que, na parede oposta por trás de nós, formou-se não um dragão de fogo escarlate, não um meteoro com a cauda em chamas, mas uma enorme sombra escura e enevoada, projetada pelo fogo de ar e trevas, baixando quando a chama baixou, para encolher, firmar-se e reduzir-se apenas à sombra dela, a sombra de uma mulher, esguia e aprumada como uma espada. E onde eu estava nada mais havia.
Ela moveu-se e a luz das lâmpadas tornou o quarto à nossa volta outra vez quente, real, recendendo a macieira. Ela me observava com algo no rosto que não havia antes. Finalmente falou, numa voz mansa:
— Disse-lhe que não existia nada escondido de você. Faz bem cm expressá-lo em palavras. Pensei em tudo isso. Mas eu esperava que, mandando buscá-lo, pudesse absolver-me a mim mesma e ao Rei.
— Uma vez que um pensamento escuso é posto em palavras, ele vem à luz. Poderia ter obtido o que quer, há muito tempo, em termos de "qualquer mulher" como o Rei também o poderia em termos de qualquer homem. — Fiz uma pausa. O quarto estabilizara-se agora. As palavras ocorriam-me claras de algum lugar, sem ser preciso pensar. — Vou dizer-lhe, se quiser, como poderá ter o amor do Rei nos seus termos e nos dele, sem desonra para você ou para ele, ou ainda para o seu marido. Se eu pudesse dizer-lhe isso, iria ter com ele?
Seus olhos arregalaram-se, com um brilho interior quando eu falei. Mas mesmo assim levou algum tempo refletindo.
— Sim.
A voz dela nada me dizia.
— Se me obedecer, poderei fazer isso para você — disse eu.
— Diga-me o que devo fazer.
— Tenho a sua promessa então?
— Você vai muito depressa — respondeu secamente. — Você próprio sela um trato antes de saber a que se está comprometendo?
Sorri.
— Não. Muito bem, então, ouça. Quando fingiu desmaiar para que mandassem buscar-me, o que disse ao seu marido e às damas?
— Só que me sentia fraca e doente e preferia estar só. Que, se eu devia comparecer à coroação ao lado do meu marido, precisava ver um médico esta noite e tomar um remédio. — Ela deu um sorriso meio enviesado. — Preparava o. caminho, também, para não sentar ao lado do Rei na festa.
— Até aí, muito bom. Você dirá a Gorlois que está grávida.
— Que eu estou grávida? — Pela primeira vez ela parecia abalada. Encarou-me.
— Isto é possível? Ele é um homem velho, mas eu teria julgado...
— É possível. Mas eu... — Ela mordeu os lábios. Passado algum tempo, disse calmamente. — Continue. Pedi o seu conselho, então devo deixá-lo falar.
Eu nunca encontrara uma mulher com quem não precisasse escolher palavras, com quem pudesse falar como falava a outro homem. Disse:
— Seu marido não tem razão para suspeitar de que esteja grávida de outro homem, exceto dele mesmo. Então dir-lhe-á isso e também que receia pela saúde da criança se permanecer em Londres mais tempo sob a tensão do falatório e das atenções do Rei. Diga-lhe que quer partir assim que a coroação terminar. Que não deseja ir à festa e ser distinguida pelo Rei, tornando-se o centro de todos os olhares e mexericos. Partirá com Gorlois e as tropas de Cornwall amanhã, antes que os portões se fechem ao pôr do sol. A notícia não chegará a Uther senão na hora da festa.
— Mas... — Ela olhou-me outra vez... — isso é loucura. Poderíamos ter partido a qualquer hora nestas três últimas semanas se tivéssemos decidido incorrer na ira do Rei. Somos obrigados a ficar até que ele nos dê permissão para partir. Se sairmos desta forma, qualquer que seja a razão...
Interrompi-a.
— Uther nada poderá fazer no dia da coroação. Precisa ficar para os festejos. Acha que ele pode ofender a Budec e Merrovius e aos outros reis reunidos aqui? Você estará em Cornwall antes que ele possa mover-se.
— E então ele se moverá. — Fez um gesto impaciente. — E haverá uma guerra, quando ele deveria estar construindo e consertando e. não destruindo e queimando. "E não poderá ganhar: se sair vencedor no campo, perde a lealdade do Oeste. Quer ganhe ou perca, a Bretanha ficará dividida e voltará às trevas.
Sim, ela seria uma rainha. Estava em fogo por causa de Uther, tanto quanto ele por ela, mas ainda conseguia raciocinar. Era mais inteligente que Uther, tinha a cabeça fria, e era, pensei, mais forte também.
— Oh, sim, ele se mexerá. — Ergui a mão. — Mas ouça-me. Falarei com o Rei antes da coroação. Saberá que a história que você contou a Gorlois é uma mentira. Saberá que eu a aconselhei a partir para Cornwall. Fingirá raiva e jurará em público que se vingará do insulto de Gorlois na coroação... E se preparará para segui-la a Cornwall assim que a festa terminar...
— Mas, entrementes, as nossas tropas estarão a salvo fora de Londres, sem problemas. Sim, estou compreendendo. Não o tinha compreendido antes. Continue. — Meteu as mãos por dentro das mangas do robe azul e segurou os cotovelos, aninhando os seios. Não era tão fria quanto parecia, a Lady Ygraine. — E então?
— E você estará segura em casa — disse eu — com a sua honra e a de Cornwall intactas.
— Segura, sim. Estarei em Tintagel, e mesmo Uther não poderá chegar a mim lá. Já viu a fortaleza, Merlin? Os penhascos daquele litoral são altos e cruéis, e deles sai uma ponte de pedra, a única via de acesso ao castelo. A ponte é tão estreita que os homens só podem passar um a um, sem os cavalos sequer. Mesmo a extremidade da ponte em terra firme é guardada por uma fortaleza no penhasco principal, e no interior do castelo há água e comida para um ano. É o lugar mais inexpugnável de Cornwall. Não pode ser tomado por terra e não pode ser abordado por mar. Se quiser afastar-me para sempre de Uther, aquele é o lugar para onde mandar-me.
— Assim ouvi dizer. Então será o lugar para onde Gorlois deverá mandá-la. Se Uther a seguir, Gorlois se contentaria em esperar com você no interior da fortaleza um ano inteiro como um animal acuado? E poderia levar suas tropas?
Ela sacudiu a cabeça.
— Se não pode ser tomada, tampouco pode ser usada como base. Só o que pode fazer é agüentar um cerco.
— Então precisa persuadi-lo de que, a menos que se satisfaça em esperar no interior do forte enquanto as tropas do Rei devastam Cornwall, ele próprio deverá estar do lado de fora onde possa lutar.
Ela juntou as mãos.
— Ele fará isso. Não poderia esperar escondido, deixando Cornwall sofrer. Nem eu consigo entender o seu plano, Merlin. Se está tentando salvar o seu Rei e o seu reino de mim, então diga. Posso fingir-me de doente aqui, até que Uther descubra que tem de deixar-me partir. Poderíamos voltar para casa sem ofensa e sem derramamento de sangue.
Respondi, brusco.
— Você disse que ouviria. O tempo está correndo. Ela sossegou outra vez.
— Estou ouvindo.
— Gorlois a trancará em Tintagel. Onde irá defrontar-se com Uther?
— Em Dimilioc. Fica a algumas milhas de Tintagel, na costa. É uma boa fortaleza e um bom campo para lutar. Mas então o que acontece? Acha que Gorlois não lutará? — Caminhou em direção à lareira e sentou-se, e vi-a firmar as mãos deliberadamente, abrindo os dedos sobre os joelhos. — E acha que o Rei poderá vir ter comigo em Tintagel, quer Gorlois esteja lá ou não?
— Se fizer como lhe peço, você e o Rei poderão ter a presença e o conforto um do outro. Não — a cabeça dela erguera-se abruptamente — esta parte deixe comigo. É aí que entramos na magia. Confie em mim quanto ao resto. Vá para Tintagel e espere. Levarei Uther para você. E prometo-lhe agora pelo Rei que ele não combaterá Gorlois, e que depois que se encontrarem no amor, Cornwall terá paz. O poder que está em mim agora é o de Deus, e estamos nas Suas mãos para construir ou destruir. Mas posso dizer-lhe também, Ygraine, que vi um fogo intenso ardendo e no centro uma coroa, e uma espada de pé num altar como uma cruz.
Ela se pôs de pé prontamente e pela primeira vez vi um certo medo nos seus olhos. Abriu a boca como se fosse falar, depois fechou-a novamente e voltou-se para a janela. Mais uma vez parou, mas vi que levantava a cabeça como se quisesse respirar. Deveria ser alada. Se passara toda a juventude emparedada em Tintagel, não admira que quisesse voar.
Ergueu as mãos e afastou o cabelo da testa. Falou voltada para a janela, sem olhar para mim.
— Farei isso. Se eu disser a ele que espero uma criança, levar-me-á para Tintagel. É o lugar onde nasceram todos os Duques de Tintagel. E, depois disso, terei que confiar em você. — Virou-se, então, e olhou para mim, deixando cair as mãos. — Se uma vez eu puder falar com ele... ao menos isso... Mas se através de mim você trouxer derramamento de sangue a Cornwall, ou a morte do meu marido, então passarei o resto da minha vida rezando aos deuses que existam para que você também, Merlin, morra traído por uma mulher.
— Contento-me em enfrentar suas preces. E agora preciso ir-me. Há alguém que possa mandar comigo? Prepararei uma bebida para você. Será apenas papoula: pode tomar sem receio.
— Ralf pode ir, é o meu pajem. Encontrá-lo-á do lado de fora da porta. É o neto de Márcia e pode-se confiar nele como eu confio nela. — Acenou para a velha dama, que correu a abrir a porta para mim.
— Então, qualquer mensagem que precise enviar para você — disse eu — mandarei por ele através do meu criado, Cadal. Então, boa noite.
Quando a deixei, ela estava de pé, muito quieta no centro do quarto, com a luz do fogo saltando à sua volta.
Fizemos uma viagem penosa até Cornwall. A Páscoa naquele ano caíra mais cedo que até então; assim, mal saíamos do inverno para a primavera, quando numa noite escura e tempestuosa, paramos os cavalos no alto do penhasco próximo a Tintagel e espreitamos em meio à ventania. Éramos apenas quatro, Uther, eu, Ulfin e Cadal. Até ali tudo correra bem e de acordo com o plano. Aproximávamo-nos da meia-noite do dia vinte e quatro de março.
Ygraine obedecera-me à risca. Naquela noite em Londres, eu não ousara sair do seu quarto diretamente para o de Uther, com medo de que pudessem contá-lo a Gorlois; e de qualquer forma, Uther estaria adormecido. Visitei-o na manhã seguinte, quando estava sendo banhado e preparado para a coroação. Despediu os criados, exceto Ulfin, e pude dizer-lhe exatamente o que fazer. Ele parecia melhor depois do sono produzido pelas drogas, cumprimentou-me bastante animado e ouviu-me com ansiedade nos olhos vazios e brilhantes.
— E ela fará como diz?
— Sim, deu-me a sua palavra. E você?
— Você sabe que farei. — Encarou-me de frente. — E agora não me vai dizer o que acontecerá?
— Já lhe disse. Um filho.
— Oh, isso! — Encolheu os ombros impaciente. — Você é como meu irmão, que não pensava em outra coisa... Ainda está trabalhando para ele?
— Poderia dizer que sim.
— Bem, precisarei arranjar um mais cedo ou mais tarde, suponho. Não, referia-me a Gorlois. O que acontecerá a ele? Há um risco certamente?
— Nada é feito sem risco. Você deve fazer o mesmo que eu, confiar no tempo. Mas posso dizer-lhe que o seu nome e o seu reino sobreviverão ao trabalho da noite.
Um silêncio breve. Ele media-me com os olhos.
— Vindo de você, creio que isto seja o suficiente. Estou satisfeito.
— Fará bem em estar. Você sobreviverá a ele, Uther. Riu subitamente.
— Meu Deus, homem, eu mesmo poderia ter profetizado isso! Posso dar-lhe trinta anos, que ele não é homem de ficar em casa quando se trata de uma guerra. O que é uma boa razão para eu me recusar a ter o seu sangue nas minhas mãos. Portanto, por esse mesmo motivo...
Voltou-se então para Ulfin e começou a dar ordens. Era de novo o velho Uther, animado, conciso, claro. Um mensageiro deveria partir imediatamente para Caerleon e tropas deveriam ser despachadas dali para o norte de Cornwall. O próprio Uther viajaria para lá diretamente de Londres assim que pudesse, seguindo rápido com uma pequena guarda pessoal para o local onde as tropas estariam acampadas. Dessa forma, o Rei poderia estar nos calcanhares de Gorlois, embora Gorlois partisse hoje, e o Rei precisasse permanecer festejando com os seus pares por mais quatro longos dias. Outro homem deveria partir prontamente pela nossa rota proposta até Cornwall e providenciar para que bons cavalos estivessem à espera em etapas curtas por todo o percurso.
Aconteceu, pois, conforme havíamos planejado. Vi Ygraine na coroação ainda, composta, empertigada, os olhos baixos, e tão pálida que, se eu não a tivesse visto na noite anterior, acreditaria na sua história. Nunca cessarei de admirar as mulheres. Mesmo com poder, não é possível ler-lhes a mente. Duquesas e vagabundas igualmente, não precisam nem estudar para ludibriar. Creio que se dá o mesmo com os escravos, que vivem atemorizados, e com aqueles animais que se disfarçam por instinto, para salvar a vida. Ela sentou-se durante toda a brilhante cerimônia como uma cera que a qualquer momento fosse derreter-se ou tombar; mais tarde, vi-a de relance, apoiada nas damas, deixando a multidão quando toda aquela pompa se movia lentamente em direção ao salão de festas. Em meio à festa, quando o vinho já correra a toda a volta, vi Gorlois deixar o salão despercebido com um ou dois homens que atendiam ao chamado da natureza. Não voltou.
Uther, para alguém que soubesse da verdade, poderá não ter sido tão convincente quanto Ygraine, mas entre a exaustão, o vinho e a exaltação feroz da expectativa, parecia bastante convincente. Os homens comentavam entre si em voz baixa a sua ira ao descobrir a ausência de Gorlois e as juras raivosas de vingar-se, assim que os convidados reais partissem. Se a zanga era um pouco exagerada e as ameaças violentas demais contra um duque cujo único pecado era proteger a própria esposa, o Rei já se mostrara bastante imoderado antes para que os homens julgassem isso parte do mesmo quadro. E tão brilhante era agora a estrela de Uther, tão ofuscante o lustre do Pendragon coroado, que Londres ter-lhe-ia perdoado até um estupro público. Menos facilmente perdoariam Ygraine por tê-lo recusado.
Então chegamos a Cornwall. O mensageiro fizera um bom trabalho e a nossa viagem, em etapas curtas e duras de não mais de vinte milhas por vez, levou-nos dois dias e uma noite. Encontramos as tropas esperando acampadas no local escolhido — a algumas milhas do Ponto de Hercules e às portas da fronteira de Cornwall — e a notícia de que, como quer que tivesse arranjado isso, Ygraine estava segura em Tintagel com um pequeno corpo de homens selecionados, enquanto o marido, com o resto do exército, descera para Dimilioc e expedira uma convocação para que todos os homens de Cornwall se reunissem para defender o seu Duque. Devia saber da presença das tropas do Rei tão próximas à fronteira, mas sem dúvida imaginava que aguardassem a chegada do Rei, e não poderia passar-lhe pela cabeça que o Rei já estivesse lá.
Ao anoitecer, entramos secretamente no nosso campo, não no alojamento do Rei, mas no de um capitão em quem ele podia confiar. Cadal já estava lá, tendo seguido à frente para preparar os disfarces que pretendíamos usar e esperar a mensagem de Ralf de Tintagel de que a hora propícia chegara.
Meu plano era bastante simples, com a espécie de simplicidade que freqüentemente traz resultados, e foi auxiliado pelo hábito de Gorlois, que desde que se casara voltava todas as noites que podia, de Dimilioc ou de outras fortalezas, para visitar a esposa. Suponho que tenha havido muitos gracejos sobre o carinho do velho, e ele formara o hábito (contara-me Ralf) de voltar a cavalo, secretamente, usando um portão particular, uma entrada secreta, de difícil acesso a não ser para quem conhecesse o caminho. Meu plano consistia apenas em disfarçar Uther, Ulfin e a mim próprio, de modo a passarmos, se fôssemos vistos, por Gorlois, seu acompanhante e um criado, e seguirmos para Tintagel à noite. Ralf arranjaria tudo de modo a estar de serviço na entrada secreta, iria ao nosso encontro e nos conduziria até lá. Ygraine de alguma forma persuadiria Gorlois — esse fora o maior perigo — a não visitá-la aquela noite, e despediria todas as damas, com exceção de Márcia. Ralf e Cadal combinariam entre si que roupa deveríamos usar: a comitiva de Cornwall saíra de Londres com tanta pressa que parte da bagagem ficara para trás, e tinha sido simples arranjar roupas de montaria com o brasão de Cornwall, e mesmo uma das capas de guerra bem conhecidas de Gorlois, com uma orla dupla de prata.
A última mensagem de Ralf fora tranqüilizadora; a hora propícia havia chegado e a noite estava bastante escura para nos ocultar, e bastante tempestuosa para manter a maioria dos homens dentro de casa. Partimos quando já estava escuro e os quatro esgueiramo-nos do acampamento sem sermos vistos. Uma vez passadas as nossas linhas, prosseguimos a galope para Tintagel, e seria preciso um olho muito arguto e cheio de suspeita para dizer que aquele não era o duque de Cornwall com três companheiros, cavalgando apressado para casa, para ver a esposa. A barba de Uther tinha sido acinzentada e uma atadura descia pelo lado do rosto para esconder o canto da boca e fornecer uma razão para qualquer estranheza na sua fala, caso fosse forçado a falar. O capuz a envolver-lhe o rosto, como era natural numa noite tão violenta, sombreava suas feições. Ele era mais aprumado e mais forte que Gorlois, mas isto era bastante fácil de disfarçar, e trazia manoplas para esconder as mãos, que não eram mãos de velho. Ulfin passava bastante bem por Jordan, um criado de Gorlois, que fora escolhido por ter o físico e a tez mais parecidos com os de Ulfin. Eu usava roupas de Brithael, amigo e capitão de Gorlois; era um homem mais velho que eu, mas cuja voz não era muito diferente da minha, e eu sabia falar bem o dialeto cômico. Sempre fui bom para vozes. Faria a conversa que fosse necessária. Cadal veio conosco sem disfarce; deveria esperar com os cavalos do lado de fora e ser o nosso mensageiro se precisássemos de um.
Acerquei-me do Rei e segredei-lhe ao ouvido:
— O castelo está a menos de uma milha daqui. Seguiremos para praia agora. Ralf estará lá para guiar-nos. Sigo à frente?
Ele assentiu. Mesmo na escuridão, com a velocidade a que íamos, pensei ter visto um brilho no seu olhar. Acrescentei:
— E não olhe assim, do contrário nunca o tomarão por Gorlois, com anos de casado nas costas.
Ouvi-o rir-se e então afastei-me com o cavalo, abrindo caminho, cuidadosamente, pela encosta cheia de coelhos e calhaus, em direção entrada do vale estreito que levava à praia.
Este vale é pouco mais que uma garganta, por onde corre um pequeno rio para o mar. No trecho mais largo, o rio não tem mais de três passos e é tão raso que um cavalo pode cruzá-lo em qualquer ponto. Na saída do vale, a água cai por um penhasco baixo e reto sobre a praia de cascalho de ardósia., Descemos a trilha em fila indiana, a corrente profunda para a esquerda, e à nossa direita uma encosta alta, coberta de arbustos. Já que o vento soprava de sudoeste e o vale íngreme cortava quase para o norte, estávamos ao abrigo da ventania, mas no alto do barranco, os arbustos assoviavam com o vento e os gravetos e mesmo galhos pequenos eram arremessados pelo ar cruzando a nossa trilha. Mesmo sem isso e sem a profundidade da trilha rochosa e a escuridão, não era um percurso fácil; os cavalos, com a tempestade e a tensão que deveria ter sido gerada pelos três — Cadal estava impassível como uma rocha, mas não ia entrar no castelo — estavam inquietos, os olhos esbranquiçados de nervoso. Quando, a um quarto de milha do mar, nos voltamos para o rio, fazendo os animais cruzá-lo, o meu, à frente, abaixou as orelhas e empacou, e ao chicoteá-lo e mergulhá-lo num meio-galope pela trilha estreita acima ao mesmo tempo, uma silhueta de homem destacou-se das sombras à nossa frente; o cavalo parou, empinando, e tive a certeza de que ele iria cair de costas e eu com ele.
A sombra acorreu e agarrou o freio, puxando o cavalo para baixo. O animal parou, suando e tremendo.
— Brithael — disse eu. — Tudo bem?
Ouvi-o soltar uma exclamação, dar um passo aproximando-se mais do cavalo e espreitar para o alto na escuridão. Atrás de mim, o cavalo de Uther guindou-se para o alto da trilha e parou, batendo os cascos. O homem junto ao meu cavalo disse incerto:
— My lord Gorlois...? Não o esperávamos esta noite. Há notícias, então?
Era a voz de Ralf. Respondi na minha própria:
— Então passaremos ao menos no escuro? Ouvi-o tomar ar.
— Sim, my lord... Por um instante pensei que era Brithael. E então o cavalo cinzento... Aquele é o Rei?
— Por esta noite — disse eu — é o Duque de Cornwall. Está tudo bem?
— Sim, senhor.
— Então mostre o caminho. Não há muito tempo.
Ele agarrou as rédeas do meu cavalo acima do freio e conduziu-o, pelo que lhe fui grato, pois a trilha era perigosa, estreita e escorregadia, e serpeava pelo barranco íngreme entre os arbustos farfalhantes; não era um caminho que eu gostaria de cavalgar, mesmo à luz do dia, num cavalo estranho e assustado. Os outros acompanharam-nos, a montaria de Cadal e de Ulfin marchando imperturbáveis, e logo atrás de mim o potro cinzento resfolegando a cada arbusto e tentando escapar ao controle do cavaleiro, mas Uther poderia cavalgar o próprio Pégaso e deixá-lo esfalfado sem sequer doerem-lhe os pulsos.
Então meu cavalo se assustou com alguma coisa que não consegui ver, tropeçou e me teria atirado no chão se não fosse Ralf à sua cabeça. Praguejei e perguntei a Ralf:
— É longe ainda?
— Cerca de duzentos passos até a praia, senhor, e deixaremos os cavalos lá. Subiremos o promontório a pé..
— Por todos os deuses da tempestade. Ficarei satisfeito de me abrigar. Você teve algum problema?
— Nenhum, senhor. — Ele precisava altear a voz para que eu escutasse, mas naquela ventania não havia receio de ser ouvido a mais de três passos de distância. — Minha senhora disse a Félix, o porteiro, que pedira ao Duque para voltar, assim que tivesse disposto as tropas em Dimilioc. Naturalmente, já se espalhou a notícia de que está grávida, de modo que é bastante natural que ela o queira ver, mesmo com os exércitos do Rei tão próximos. Ela disse a Félix que o Duque entraria pela porta secreta para o caso de o Rei já ter postado espiões. Ele não deveria dizer à guarnição, recomendou ela, porque poderiam alarmar-se ao saber que ele deixara Dimilioc e as tropas. Mas o Rei não poderia provavelmente chegar a Cornwall antes de mais um dia, no mínimo... Félix não suspeita de nada. Por que deveria suspeitar?
— O porteiro está sozinho no portão?
— Sim, mas há dois soldados na casa da guarda.
Ele já nos descrevera o que havia no interior da porta secreta. Era um pequeno portão encaixado baixo na muralha externa do castelo e, logo na entrada, um longo lance de degraus que subiam para a direita, junto à parede. A meio caminho havia um patamar largo com uma sala de guarda a um lado. Os degraus continuavam, e no alto uma porta particular levava aos apartamentos.
— Os soldados sabem? — perguntei. Sacudiu a cabeça.
— My lord, não tivemos coragem. Todos os homens deixados com Lady Ygraine foram escolhidos pessoalmente pelo Duque.
— A escada é bem iluminada?
— Um archote. Providenciei para que soltasse bastante fumaça.
Olhei por cima do ombro para o cavalo cinzento, que parecia um fantasma acompanhando-me na escuridão. Ralf tivera de erguer a voz para que eu o ouvisse apesar da ventania que rugia no alto do vale, e eu teria julgado que o Rei quereria saber o que se passava entre nós. Mas ele mantinha-se silencioso, desde o início da cavalgada. Parecia que estava realmente satisfeito em confiar no tempo. Ou em confiar em mim.
Voltei-me de novo para Ralf, debruçando-me no pescoço do cavalo.
— Há uma senha?
— Sim, my lord. "Peregrino". E a senhora enviou um anel para o Rei usar. É o que o Duque usa às vezes. Ali está o fim da trilha, está vendo? É uma descida bem acentuada para a praia. Parou, firmando o cavalo, então o animal pulou e seus cascos bateram no cascalho.
— Deixaremos os cavalos aqui, my lord.
Desmontei, agradecido. Tanto quanto podia ver, estávamos numa pequena enseada abrigada do vento por um grande promontório à esquerda, mas o mar que invadia essa ponta de terra e se curvava para quebrar nas rochas fora da praia era imenso, e descia com violência sobre o cascalho em torrentes de espuma, produzindo um estrondo de dois exércitos a defrontarem-se irados. Longe, para a direita, vi outro promontório e entre os dois a faixa ruidosa de água branca interrompida por dentes de rocha preta. O rio às nossas costas caía pelo penhasco baixo em direção ao mar em duas compridas cascatas, que eram sopradas pelo vento como duas trancas de cabelo. Além dessas cascatas e sob a parede saliente do penhasco principal, havia um abrigo para os cavalos.
Ralf apontava para o promontório à nossa esquerda.
— A trilha é ali. Diga ao Rei para vir atrás de mim, seguindo-me bem de perto. Um pé em falso esta noite, e antes que possa gritar por socorro estará lá fora com a maré, tão longe como as estrelas do ocidente.
O cavalo cinza pulou para junto de nós e o Rei desceu da sela. Ouvi-o rir, aquele mesmo som agudo e exultante. Mesmo que não houvesse um prêmio ao final da corrida noturna, ele seria o mesmo. O perigo era bebida e sonho para Uther.
Os outros dois reuniram-se a nós, desmontaram, e Cadal tomou as rédeas. Uther chegou ao meu ombro, olhando para a investida cruel das águas.
— Nadamos agora?
— Poderemos chegar a isso, sabe Deus. Parece-me que as ondas sobem até a muralha do castelo.
Ele ficou muito quieto, indiferente às rajadas de vento e de chuva, a cabeça erguida contemplando o promontório. No alto, uma luz brilhava contra a escuridão da tempestade.
Toquei-lhe o braço.
— Ouça. A situação é a que esperávamos. Há um porteiro, Félix, e dois soldados na casa da guarda. Haverá pouca luz. Conhece o caminho. Será suficiente que, ao entrarmos, resmungue um agradecimento a Félix e suba rapidamente as escadas; Márcia, a dama velha, irá encontrá-lo à porta dos aposentos de Ygraine para fazê-lo entrar. Pode deixar o resto conosco. Se surgir algum problema, então haverá três de nós contra três deles e numa noite destas não se ouvirá o barulho. Aparecerei uma hora antes do amanhecer e mandarei Márcia buscá-lo. Agora não poderemos falar de novo. Acompanhe Ralf de perto, a trilha é muito perigosa. Ele tem um anel para você e a senha. Vá agora.
Ele voltou-se sem dizer palavra e caminhou pelo cascalho borbulhante até onde se achava o menino. Encontrei Cadal ao meu lado com as rédeas dos quatro cavalos presas no punho. Seu rosto, como o meu, pingava de umidade e a capa agitava-se ao seu redor como uma nuvem de tempestade.
Eu disse:
— Você me ouviu. Uma hora antes do amanhecer.
Ele também contemplava o penhasco no alto, onde se agigantava o castelo.
Num momento de claridade fugaz, por entre uma nuvem desfeita, vi as muralhas do castelo emergindo da rocha. Abaixo delas caía o penhasco, quase vertical, até às ondas que rugiam. Entre o promontório e a terra firme, ligando o castelo ao penhasco principal, corria um ressalto natural da rocha, seu lado perpendicular polido pelo mar como a lâmina de uma espada. Da praia onde nos encontrávamos não parecia haver nenhuma saída exceto o vale; nem a fortaleza em terra firme, nem o promontório, nem a rocha do castelo podiam ser escalados. Não admirava que não postassem sentinelas ali. E a trilha para o portão secreto poderia ser defendida por um só homem contra um exército.
Cadal dizia:
— Vou levar os cavalos para ali, sob a saliência, no abrigo que há. E por mim, se não for pelo seu cavalheiro doente de amor, seja pontual. Se chegarem a suspeitar lá em cima de que há algo de anormal, somos ratos numa ratoeira, todos nós. Podem fechar aquele maldito vale tão rapidamente quanto podem bloquear o promontório, sabe disso? E não me agrada nem um pouquinho nadar para o lado oposto.
— Nem a mim. Sossegue, Cadal, sei o que vou fazer.
— Acredito em você. Há alguma coisa em você esta noite... A maneira como falou agora mesmo com o Rei, sem pensar, mais ríspido do que falaria a um criado. E ele não disse uma palavra, mas fez o que você lhe pediu. Sim, diria que você sabe o que está fazendo. O que é tanto melhor, mestre Merlin, porque, de outra
forma, compreende que está arriscando a vida do Rei da Bretanha por uma noite de prazer?
Fiz uma coisa que nunca havia feito antes, e que geralmente não faço. Estendi a mão e pousei-a sobre a de Cadal que segurava as rédeas. Os cavalos estavam quietos agora, molhados e infelizes, aconchegando-se com as ancas para o vento e as cabeças baixas.
— Se Uther entrar naquele castelo esta noite e se deitar com ela, então, perante Deus, Cadal, importará menos que uma gota de espuma do mar se ele for assassinado na cama. Afirmo-lhe que um Rei sairá do trabalho desta noite, cujo nome será um escudo e um broquel para os homens até que esta linda terra, de uma costa a outra, seja esmagada pelo mar que a envolve, e os homens deixem a terra para viver entre as estrelas. Acha que Uther é um Rei, Cadal? É apenas um regente para aquele que veio antes e aquele que virá depois, o Rei passado e futuro. E esta noite ele é menos ainda que isso: é um instrumento e ela, um receptáculo, e eu... eu sou o espírito, a palavra, a coisa do ar e das trevas, e posso influenciar o que estou fazendo tanto quanto um colmo pode influenciar o vento de Deus que passa por ele. Você e eu, Cadal, somos tão desamparados quanto as folhas mortas nas águas dessa enseada. — Deixei cair a mão. — Uma hora antes do amanhecer.
— Até lá, my lord.
Deixei-o e, com Ulfin no meu encalço, segui pelo cascalho atrás de Ralf e do Rei até o pé do penhasco negro.
Não creio que mesmo à luz do dia eu pudesse encontrar essa trilha novamente sem um guia, e muito menos subi-la. Ralf foi à frente com a mão do Rei pousada no seu ombro; por minha vez, eu segurava uma dobra da capa de Uther, e Ulfin da minha. Felizmente, encostados à face do rochedo como andávamos, estávamos protegidos do vento; expostos, a subida teria sido impossível; seríamos arrancados do penhasco como penas. Mas não estávamos protegidos do mar. As ondas deviam erguer-se a mais de dez metros e as principais, as sétimas, cresciam como torres rugindo e encharcando-nos de sal a bem vinte metros da praia.
Uma boa coisa o fervilhar selvagem do mar fez por nós; sua brancura refletia para o alto a luz que vinha do céu. Finalmente vimos, acima das nossas cabeças, as fundações das paredes do castelo formando ressaltos na rocha. Mesmo em tempo seco as muralhas não teriam permitido uma escalada e esta noite a água descia por elas em torrentes. Não vi porta alguma, nada que interrompesse a superfície lisa das paredes de ardósia. Ralf não parou; seguiu adiante sob as mesmas, em direção a um canto do penhasco voltado para o mar. Ali fez uma pausa momentânea e vi-o mover o braço num gesto que significava "Cuidado". Dobrou o canto com cautela e desapareceu de vista. Senti Uther vacilar ao atingir o canto e enfrentar a força do vento. Parou por um momento e prosseguiu, agarrado à face do rochedo. Ulfin e eu acompanhamo-lo. Por mais alguns metros apavorantes lutamos ao longo do caminho, os rostos voltados para a face molhada e escorregadia do penhasco, quando então uma escora saliente nos abrigou e começamos a descer aos tropeções por uma rampa escorregadia acolchoada de algas. À nossa frente, metida num recesso da rocha sob a muralha do castelo e oculta dos baluartes acima por um ressalto pontiagudo, surgiu a porta de emergência de Tintagel.
Vi Ralf lançar um longo olhar para o alto antes de mergulhar sob a rocha. Não havia sentinelas. Que necessidade havia de postar homens num baluarte voltado para o mar? Ele sacou a adaga e bateu com força na porta, um padrão de batidas que nós, que estávamos parados às costas dele, mal ouvimos, tal a ventania.
O porteiro deveria estar à escuta junto à porta. Abriu-a imediatamente. Ela girou silenciosa por uns dez centímetros, então parou, e ouvimos o chocalhar da corrente. Pela abertura apareceu uma mão segurando um archote. Uther, ao meu lado, puxou o capuz mais para baixo, e passei à frente dele acercando-me de Ralf, mantendo a capa junto à boca e curvando os ombros contra as rajadas de vento e chuva.
O rosto do porteiro, a metade apenas, apareceu sob o archote. Um olho espreitou. Ralf, bem iluminado pela faixa de luz, disse, ansioso:
— Depressa, homem. Um peregrino. Sou eu de volta com o
Duque.
O archote subiu mais um pouco. Vi a grande esmeralda no dedo de Uther refletir a luz e falei bruscamente com a voz de Brithael:
— Abra, Félix, e deixe-nos entrar, pelo amor de Deus. O Duque levou uma queda do cavalo esta manhã e suas ataduras estão empapadas. Só há nós quatro aqui. Apresse-se.
A corrente foi retirada e a porta abriu-se totalmente. Ralf estendeu o braço de modo que, segurando-a ostensivamente para o amo, pudesse entrar na passagem entre Félix e Uther, ao mesmo tempo que o Rei.
Uther passou pelo homem que fazia uma reverência, sacudindo a água como um cão molhado e respondendo qualquer coisa ininteligível à sua saudação. Então, com um breve aceno da mão que fez a esmeralda faiscar de novo, voltou-se direto para a escada que subia à nossa direita e começou a galgá-la rapidamente.
Ralf tirou o archote da mão do porteiro enquanto eu e Ulfin seguíamos apressados atrás de Uther.
— Eu iluminarei o caminho com isto. Feche e ponha a tranca na porta novamente. Descerei mais tarde para dar-lhe as notícias, Félix, mas estamos molhados como cães afogados e queremos chegar-nos ao fogo. Há um na sala da guarda, suponho?
— Há.
O porteiro já se virará para colocar a tranca na porta. Ralf segurava o archote de modo que Ulfin e eu pudéssemos passar na sombra. Comecei a subir os degraus lentamente no rastro de Uther, com Ulfin nos meus calcanhares. Os degraus estavam iluminados apenas por uma lamparina fumegante que ardia num suporte da parede no patamar largo mais acima. Fora fácil.
Fácil demais. De repente, no patamar, a luz sombria foi aumentada pela de um archote claro e dois soldados saíram de uma porta, as espadas preparadas.
Uther, seis degraus acima, parou ligeiramente e continuou. Vi sua mão sob a capa descer para a espada. Sob a minha eu soltara a arma na bainha.
Os passos leves de Ralf subiram correndo os degraus atrás de nós.
— My lord Duque!
Uther, pude imaginar quão agradecido, parou e voltou-se para esperar por ele, de costas para os guardas.
— My lord Duque, deixe-me iluminar... Ah, eles têm um archote lá em cima. — Só então pareceu reparar nos guardas com a luz intensa. Continuou a correr, passando por Uther, dizendo alegre: — Olá, Marcus, Sellic, dêem-me esse archote para iluminar o caminho de my lord até a Duquesa. Esta coisa só fumega.
O homem com o archote segurava-o bem alto e os dois espreitavam-nos. O menino não hesitou. Correu direto por entre as espadas e tirou o archote da mão do homem. Antes que pudessem impedi-lo, voltou-se rápido para apagar o primeiro archote num depósito de areia que se achava junto à porta da sala da guarda. O novo archote brilhava claramente, mas balançava e estremecia à medida que ele se movia, de modo que as sombras dos guardas se projetavam imensas e grotescas pelos degraus abaixo, ajudando a encobrir-nos. Uther, aproveitando-se das sombras instáveis, começou a subir rapidamente o novo lance. A mão com o anel de Gorlois erguia-se para retribuir as saudações dos homens. Os guardas afastaram-se para o lado. Mas cada um para um lado no alto da escada, as espadas ainda nas mãos.
Atrás de mim ouvi um sussurro débil quando a lâmina de Ulfin soltou da bainha. Sob a capa, a minha encontrava-se metade de fora. Não havia esperanças de passar por eles. Teríamos de matá-los e rezar para que não fizéssemos barulho. Ouvi os passos de Ulfin afrouxarem e sabia que ele pensava no porteiro. Talvez precisasse voltar enquanto nos ocupávamos dos guardas.
Mas não houve necessidade. Subitamente, no alto do segundo lance de degraus, a porta abriu-se de par em par e ali, completamente iluminada, apareceu Ygraine. Estava de branco como eu a vira antes, mas desta vez não de camisola. O vestido comprido brilhava como as águas de um lago. Sobre um braço e o ombro, à maneira romana, usava um manto azul-escuro. O cabelo estava enfeitado com jóias. Quando ela estendeu as mãos, o manto azul afastou-se dos pulsos refulgentes de ouro vermelho.
— Bem-vindo, my lord!
Sua voz alta e clara fez com que os dois guardas se voltassem para olhá-la. Uther venceu a última meia dúzia de degraus em dois passos, e deixou-os para trás, a'capa roçando as lâminas das espadas. Passou pelo archote brilhante de Ralf e continuou rapidamente pelo segundo lance de escadas.
Os soldados empertigaram-se um de cada lado no alto das escadas, de costas para a parede. Atrás de mim, ouvi Ulfin ofegar, mas seguiu-me quieto, calmo e sem pressa. Subi os últimos degraus para o patamar. É alguma coisa, suponho eu, ter nascido príncipe, mesmo bastardo; eu sabia que os olhos das sentinelas estavam pregados na parede à frente devido à presença da Duquesa, tão certo como se fossem cegos. Passei pelas espadas e Ulfin também.
Uther alcançara o alto da escadaria. Tomou-lhe as mãos e ali, diante da porta iluminada, com as espadas dos seus inimigos refletindo à luz do archote abaixo dele, o Rei baixou a cabeça e beijou Ygraine. A capa escarlate girou sobre os dois, engolfando o branco. À frente deles, eu vi a sombra da velha dama, Márcia, segurando a porta.
Então o Rei disse: — Venha.
E com a grande capa ainda a envolver os dois, conduziu-a para a luz, e a porta fechou-se à passagem deles. Assim tomamos Tintagel.
Estávamos bem servidos aquela noite, Ulfin e eu. A porta do quarto mal se fechara, deixando-nos ilhados a meio do lance de escadas entre a porta e os guardas, quando ouvi a voz de Ralf novamente, fácil e rápida, acima do ruído das espadas ao serem embainhadas:
— Deuses e anjos, que trabalho para uma noite! E ainda tenho que levá-lo de volta quando terminar! Tem um fogo na sala adiante? Ótimo. Teremos uma chance de secar enquanto esperamos. Podem descansar agora e deixar o caso conosco. Vamos, o que estão esperando? Receberam suas ordens — e nenhuma palavra, prestem atenção, para ninguém que apareça.
Um dos guardas, repondo a espada na bainha, voltou direto para a sala da guarda, mas o outro hesitou, olhando na minha direção.
— My lord Brithael, é certo? Podemos deixar o serviço? Comecei a descer lentamente os degraus.
— Está certo, sim. Podem ir. Mandaremos o porteiro buscar vocês quando quisermos sair. E, acima de tudo, nem uma palavra sobre a presença do Duque. Tome as providências necessárias. — Voltei-me para Ulfin, de olhos arregalados no degrau abaixo. — Jordan, vá para a porta do quarto ali e fique de guarda. Não, dê-me a sua capa. Vou levá-la para junto do fogo.
Quando partiu, agradecido, a espada finalmente na mão, ouvi Ralf cruzar a sala da guarda, sublinhando minhas ordens com ameaças que eu podia adivinhar. Desci as escadas, sem pressa, para dar-lhe tempo de livrar-se dos homens.
Ouvi a porta interna fechar-se e entrei. A sala da guarda, vivamente iluminada pelo archote e o fogo resplandecente, estava vazia, exceto por nós.
Ralf deu-me um sorriso alegre, os nervos gastos.
Nunca mais, nem para agradar minha senhora, por todo o ouro de Cornwall.
— Não haverá necessidade outra vez. Você portou-se mais do que bem, Ralf. O Rei não esquecerá.
Ele esticou-se para colocar o archote no suporte,.viu meu rosto e perguntou, ansioso:
— O que foi, senhor? Está doente?
— Não. Essa porta tem chave? — Acenei para a porta fechada pela qual os guardas haviam saído.
— Já a tranquei. Se tivessem qualquer suspeita, não me entregariam a chave. Mas não tinham, e por que teriam? Eu poderia ter jurado agora mesmo que era Brithael falando ali das escadas. Foi como mágica. — A última palavra continha uma interrogação, e ele me fitou com o olhar que eu conhecia, mas como não respondi, perguntou apenas: — O que agora, senhor?
— Desça até o porteiro e mantenha-o longe daqui. — Sorri. — Você terá a sua vez junto ao fogo, Ralf, quando tivermos partido.
Ele saiu, os passos leves como sempre, pela escada abaixo. Ouvi-o falar alguma coisa e uma gargalhada de Félix. Despi a capa molhada e estendi-a com a de Ulfin, junto ao fogo. Sob a capa as roupas estavam bastante secas. Sentei-me por um momento, levando as mãos à frente diante do fogo. Havia silêncio na sala iluminada pelas chamas, mas do lado de fora o ar enchia-se com o fragor das ondas e da tempestade que açoitava as muralhas do castelo.
Meus pensamentos picavam como centelhas. Não conseguia sentar-me sossegado. Pus-me de pé e caminhei pela pequena sala, inquieto. Ouvi a tempestade lá fora caminhando até a porta, ouvi o murmúrio de vozes e o chocalhar de dados enquanto Ralf e Félix passavam o tempo junto ao portão. Olhei para o outro lado. Nenhum som do alto da escadaria, onde eu podia ver Ulfin, ou talvez sua sombra, imóvel junto à porta do quarto...
Alguém descia de mansinho as escadas; uma mulher encoberta por um manto, carregando alguma coisa. Veio sem ruído e não se ouvia som nem movimento de Ulfin. Saí para o patamar, e a luz da sala da guarda acompanhou-me, luz das chamas e sombras.
Era Márcia. Vi as lágrimas brilharem nas suas faces ao baixar a cabeça para o que trazia nos braços. Uma criança enrolada em agasalhos quentes para protegê-la da noite de inverno. Viu-me e estendeu o seu fardo para mim. — Cuide dele — disse, e através do brilho das lágrimas vi o contorno da escadaria delinear-se outra vez portrás dela. — Cuide dele...
O sussurro desapareceu na flutuação do archote e no zunido da tempestade lá fora. Eu estava sozinho na escada e no alto havia uma porta fechada. Ulfin não se movera.
Abaixei os braços vazios e voltei para o fogo. Morria agora e fi-lo avivar-se outra vez, mas de pouco me serviu, pois novamente a luz me feriu. Embora eu tivesse visto o que queria, havia morte em algum ponto antes do fim e eu tinha medo. Meu corpo doía e a sala sufocava. Apanhei minha capa que estava quase seca, envolvi-me nela e atravessei o patamar para uma pequena porta na parede externa sob a qual o vento passava como uma faca. Empurrei-a contra o vento e saí.
A princípio, depois da claridade da sala da guarda eu nada vi. Fechei a porta às minhas costas e encostei-me na parede molhada, enquanto o ar da noite caía sobre mim como um rio. Então as coisas tomaram forma à minha volta. Em frente, a alguns passos de distância, estava o parapeito de ameias que me chegava à cintura, a parede externa do castelo. Entre esta e a parede onde eu me encontrava havia uma plataforma plana; acima, outra parede em ameias e para além o enorme penhasco de onde se erguiam as muralhas e a silhueta da fortaleza continuando passo a passo até o pico do promontório. No topo da subida onde eu vira a janela iluminada, a torre recortava-se agora negra e sem luz contra o céu.
Caminhei para o parapeito e debrucei-me. Embaixo havia uma falda de penhasco que durante o dia deveria ser uma encosta relvada coberta de algas, beijos-de-freira e ninhos de aves marinhas. Além e para baixo, a fúria branca da baía. Olhei para a direita, o caminho que tínhamos percorrido. A não ser pelos arcos de espuma branca, a baía onde Cadal esperava achava-se invisível na escuridão.
Parará de chover e as nuvens corriam mais altas e mais finas. O vento mudara um pouco, diminuindo de intensidade. Cessaria até o amanhecer. Aqui e ali, altos e negros para além das nuvens velozes, os espaços da noite pontilhavam-se de estrelas.
Então de súbito, diretamente acima de mim, as nuvens separaram-se e ali, deslizando entre elas como um navio pelas ondas, a estrela.
Estava ali entre o ofuscamento das estrelas menores, piscando a princípio, então pulsando, crescendo, explodindo luz e todas as cores que se vêem na água em movimento. Observei-a aumentar, incendiar-se e abrir-se em luz; depois, o vento veloz atirava uma teia de nuvens sobre ela, tornando-a cinzenta e opaca e distante, perdida de vista entre as outras estrelas insignificantes. Quando as nuvens começavam a dançar outra vez, ela voltava, inteirando-se e crescendo e dilatando-se até que se destacava das outras como um archote lançando um redemoinho de centelhas. E assim continuou toda a noite enquanto permaneci sozinho no parapeito de ameias a observá-la, vivida e brilhante, e em seguida cinzenta e adormecida, mas despertando cada vez para luzir mais suavemente. Perto do amanhecer, manteve-se brilhante e parada, com a claridade a crescer ao seu redor como se o novo dia prometesse surgir limpo e tranqüilo.
Inspirei e limpei o suor do meu rosto. Endireitei-me, afastando-me do parapeito onde me debruçara. Meu corpo estava entorpecido, mas a dor desaparecera. Olhei para a janela escura de Ygraine, onde agora eles dormiam.
Atravessei a plataforma de volta à porta. Ao abri-la, ouvi, clara e nítida, uma batida na porta secreta embaixo.
Num passo largo, alcancei o patamar, fechando a porta atrás de mim, no momento em que Félix saía do cubículo e se encaminhava para a outra porta. Quando levou a mão à corrente, Ralf correu atrás dele com o braço erguido. No seu punho vi o brilho da adaga invertida. Pulando com a leveza de um gato, atingiu-o com o cabo da adaga. Deve ter feito algum ruído perceptível ao homem que estava do lado de fora, apesar do rugido do mar, porque uma voz soou ríspida:
— O que é isso? Félix?
E as batidas recomeçaram, mais fortes que antes.
Eu já estava na metade do lance. Ralf curvava-se sobre o corpo do porteiro, mas voltou-se ao me ver descer e interpretou corretamente o meu gesto. Endireitou-se e perguntou claramente:
— Quem está lá?
— Um peregrino.
Era uma voz masculina, e ofegante. Desci de mansinho o restante do lance. Entrementes, despi a capa e enrolei-a no braço esquerdo. Ralf lançou-me um olhar, do qual desaparecera toda a alegria e ousadia. Não havia necessidade de fazer a pergunta seguinte; sabíamos a resposta.
— Quem faz a peregrinação? — A voz do menino estava rouca.
— Brithael. Agora abra, depressa!
— My lord Brithael! My lord... eu não posso... não tenho ordens para admitir ninguém por aqui... — Ele me observava enquanto eu me curvava para apanhar Félix por baixo dos braços e arrastá-lo, com o menor ruído possível, de volta ao cubículo, fora de vista. Vi Ralf umedecer os lábios. —Não pode dirigir-se à porta principal, my lord? A Duquesa deverá estar dormindo e não tenho ordens...
— Quem é você? — perguntou Brithael. — Ralf, pela voz. Onde está Félix?
— Foi à sala da guarda, senhor.
— Então, apanhe a chave com ele ou mande-o descer. — A voz do homem endureceu e o punho tornou a bater na porta. — Faça como digo, menino, ou, por Deus, arrancarei sua pele. Tenho uma mensagem para a Duquesa e ela não lhe vai agradecer por retardar-me aqui. Vamos já, corra I
— A... a chave está aqui, my lord. Um momento. — Lançou-me um olhar desesperado sobre o ombro esquerdo, enquanto remexia na tranca. Deixei o homem inconsciente escondido e já estava de volta no ombro de Ralf, segredando ao seu ouvido:
— Veja se ele está sozinho, primeiro. Depois, deixe-o entrar.
Ele acenou concordando e a porta abriu-se na corrente. Acobertado pelo barulho que fazia, desembainhei a espada e desapareci nas sombras por trás do menino, onde a porta me ocultaria de Brithael. Encostei-me à parede. Ralf espreitou pela abertura, então, recuou com um sinal para mim e começou a deslizar a corrente para fora do encaixe.
— Perdoe-me, my lord Brithael. — Ele parecia humilde e confuso: — Tinha de certificar-me... Há algum problema?
— Que outra coisa? — Brithael empurrou a porta com tanta violência, que teria batido em mim se Ralf não a tivesse aparado. — Não importa, você fez bem. — Começou a entrar e parou olhando o menino do alto. — Mas alguém esteve neste portão hoje à noite?
— Oh, não, senhor! — Ralf parecia assustado, como seria de esperar, e portanto convincente. — Não enquanto eu estive aqui e Félix nada disse... Por quê? O que aconteceu?
Brithael resmungou e sua armadura tilintou ao encolher os ombros.
— Havia um sujeito lá embaixo, um cavaleiro. Atacou-nos. Deixei Jordan tratando dele. Não houve nada aqui, então? Problema algum?
— Nenhum, my lord.
— Então, tranque a porta outra vez e não deixe ninguém entrar, exceto Jordan. E agora, preciso ver a Duquesa. Trago graves notícias, Ralf. O Duque está morto.
— O Duque? — O menino começou a gaguejar. Não fez nenhuma menção de fechar a porta, mas deixou-a aberta, balançando.
Ainda escondia Brithael de mim, mas Ralf estava logo ao meu lado, e à luz fraca vi seu rosto empalidecer e esvaziar-se de expressão devido ao choque. — O Duque... m-morto, my lord? Assassinado? Brithael, já em movimento, parou e voltou-se. Mais um passo e estaria desembaraçado da porta que me ocultava. Eu não podia deixar que alcançasse os degraus e ficasse mais alto que eu.
— Assassinado? Por quê, em nome de Deus? Quem faria isso? Não é o jeito de Uther. Não, o Duque quis arriscar antes que o Rei chegasse, e atacamos o acampamento real esta noite, fora de Dimilioc. Mas, eles estavam preparados. Gorlois foi morto na primeira arrancada. Vim com Jordan trazer a notícia. Diretamente do campo de batalha. Agora tranque a porta e faça como digo.
Encaminhou-se para as escadas. Havia espaço agora para usar a espada. Saí das sombras por trás da porta.
— Brithael.
O homem deu meia volta. Suas reações eram tão rápidas que cancelaram a vantagem da surpresa. Suponho que não precisasse nem ter falado, mas há certas coisas que um príncipe é obrigado a fazer. Custou-me bastante caro e poderia ter-me custado a vida. Deveria lembrar-me de que aquela noite eu não era um príncipe, mas um instrumento do destino, como Gorlois a quem eu traíra e Brithael, a quem seria obrigado a matar. Eu era um refém do futuro. Mas a carga pesava nos meus ombros e sua espada já estava desembainhada antes de eu erguer a minha; ficamos a medir-nos um ao outro, olho a olho.
Ele reconheceu-me quando os nossos olhos se encontraram. Percebi seu choque e um clarão rápido de medo que desapareceu num momento, no momento em que a minha posição e a espada desembainhada disseram-lhe que ele conduziria a luta e não eu. Talvez percebesse, no meu rosto, que eu já lutara aquela noite mais duramente que ele.
— Devia ter adivinhado que você estaria aqui. Jordan achou que era o seu criado lá embaixo, seu feiticeiro desgraçado. Ralf! Félix! Guarda! Aqui, guarda!
Vi que não percebeu de pronto que eu estivera no interior do portão todo o tempo. Então o silêncio na escada e o movimento rápido de Ralf afastando-se de mim para fechar a porta contou a sua própria história. Veloz como um lobo, rápido demais para que eu pudesse reagir, Brithael ergueu o braço esquerdo com o punho de ferro, atingindo de lado a cabeça do menino. Ralf caiu sem emitir um som, o corpo escorando a porta aberta.
Brithael saltou de volta ao portão:
— Jordan! Jordan! A mim! Traição!
Então eu estava em cima dele, rompendo a sua guarda desajeitado, peito contra peito, as espadas juntando-se e deslizando juntas, arrancando gemidos do'metal e produzindo centelhas no choque.
Passos apressados desciam a escada. Era a voz de Ulfin:
— My lord... Ralf... Exclamei ofegante:
— Ulfin... diga ao Rei... Gorlois está morto. Precisamos voltar... corra.
Ouvi-o subir rápido os degraus, aos tropeções. Brithael disse entre dentes:
— O Rei? Agora compreendo, seu cafetão alcoviteiro.
Era um homem grande, um lutador no vigor da mocidade, e justificadamente furioso. Eu não possuía experiência e odiava o que ia fazer, mas era necessário.
Já não era um príncipe, nem mesmo um homem lutando pelas regras dos homens. Era um animal selvagem lutando para matar, porque era inevitável.
Com a mão livre, bati-lhe com força na boca e vi a surpresa nos seus olhos ao saltar para trás para desembaraçar a espada. Então voltou rápido, a espada como um anel de ferro à sua volta. De alguma forma abaixei-me sob a espada sibilante, aparei o golpe, segurei-o e meti-lhe um pontapé que o apanhou em cheio no joelho. A espada roçou pelo meu rosto com um assovio que queimava. Senti a ardência da pancada e o sangue escorrendo. Então, ao apoiar-se no joelho machucado, pisou torto, escorregou na relva molhada e caiu pesadamente, o cotovelo batendo numa pedra e a espada voando-lhe da mão.
Qualquer outro homem teria dado um passo atrás para que pudesse recuperá-la. Desci sobre ele com todo o meu peso, procurando atingi-lo na garganta com a espada que diminuíra de tamanho, entrementes.
Estava mais claro agora, e a luz aumentava de minuto a minuto. Vi o desprezo e a fúria no seu olhar quando rolou para livrar-se do golpe. Errei, e a espada entrou por um tufo esponjoso de algas. No segundo em que lutei desprotegido para desembaraçá-la, sua tática mudou para igualar-se à minha, e com aquele punho de ferro atingiu-me por trás da orelha e, desviando-se para um lado, ergueu-se e mergulhou pela encosta perigosa para apanhar a espada que jazia brilhando na relva, a dois passos da beira do penhasco. Se a alcançasse, matar-me-ia em segundos. Rolei, encolhi o corpo, tentando pôr-me de pé, lancei-me de qualquer maneira pela encosta escorregadia na direção da espada. Ele apanhou-me de joelhos. Com a bota aplicou-me um pontapé do lado e a seguir, nas costas. A dor explodiu em mim como uma bolha de sangue e meus ossos derreteram-se, atirando-me estendido ao chão; senti o pé bater no metal, e a espada, soltando-se da relva, escorregou, brilhando pálida pela borda do penhasco. Segundos depois, pareceu-me, ouvi o retinir do metal, fino e doce em meio ao trovejar das ondas, batendo contra as rochas lá embaixo.
Mas, ao mesmo tempo que me chegava esse som, ele estava de novo sobre mim. Eu tinha o joelho sob o corpo e arrastava-me penosamente. Através do sangue que me toldava a visão, vi o golpe vir na minha direção e tentei desviar-me, mas o punho atingiu-me na garganta, derrubando-me com tal selvageria que caí de volta na relva molhada, os braços abertos, sem ar e sem conseguir ver. Senti-me rolar e escorregar e, lembrando-me do que me aguardava lá embaixo, enterrei a mão esquerda no capim, às cegas, na esperança de parar a queda. A espada continuava na minha direita. Ele afastou-se novamente de um salto e com todo o peso do seu corpo graúdo pulou com os dois pés sobre a mão da espada. A mão partiu-se contra a guarda de metal. Ouvi-a cair. A espada voltou-se para cima como uma mola e apanhou-o ao estender a mão. Ele praguejou, resfolegando, sem palavras, e recuou momentaneamente. De alguma forma, apanhei a espada com a mão esquerda. Ele voltou mais uma vez, rápido como dantes e, quando tentei arrastar-me para longe, deu um passo ligeiro à frente e pisou outra vez minha mão quebrada. Alguém gritou. Senti-me golpeando-o, indiferente à dor, cego. Com as últimas forças que me restavam, meti a espada, desesperadamente curta, no seu corpo escanchado, senti que era arrancada da minha mão, e então fiquei deitado, à espera, sem resistir, do último pontapé que me mandaria pelo penhasco abaixo.
Permaneci ali sem fôlego, vomitando, sufocando em bile, o rosto no chão e a mão esquerda enterrada nos tufos macios de algas, como se tentasse prender-se à vida por mim. As batidas e o estrondo do mar sacudiam o penhasco, e mesmo esse pequeno tremor parecia moer-me o corpo. Doía tudo. O lado doía como se as costelas tivessem entrado, e a pele tivesse sido arrancada da face comprimida contra a relva. Havia sangue na minha boca e a mão direita era uma polpa dolorida. Ouvi alguém, um outro homem, muito longe, soltando gemidos abjetos.
O sangue na minha boca borbulhava e escorria pelo queixo até o chão e percebi que era eu mesmo quem gemia. Merlin, o filho de Ambrosius, o príncipe, o grande feiticeiro. Fechei a boca sobre o sangue e comecei a arrastar-me e agarrar-me na relva, tentando levantar-me.
A dor na mão era cruel, a pior de todas: ouvi, em vez de sentir, os pequenos ossos rangerem onde as extremidades haviam partido. Senti-me desamparado ao me pôr de joelhos e não ousava esticar-me, tão próximo me achava da beira do precipício. Abaixo rugiu uma onda maior erguendo-se para a claridade acinzentada e caiu chocando-se contra a onda seguinte. O penhasco estremeceu. Uma ave marinha, a primeira do dia, passou pelo alto piando. , Arrastei-me para longe da borda e então pus-me de pé.
Brithael estava caído junto à porta secreta, de bruços, como se tivesse tentado alcançá-la. Atrás dele, na relva, havia uma trilha de sangue, brilhante como o rastro de uma lesma. Estava morto. O último golpe desesperado atingira uma veia principal na virilha, e a vida esvaíra-se dele ao tentar buscar socorro. Parte do sangue que me empapava devia ser dele.
Engatinhei para perto, querendo certificar-me. Então, rolei-o até que a encosta tomasse conta dele, fazendo-o descer para o mar atrás da espada. O sangue teria de desaparecer por si. Chovia outra vez, e com sorte o sangue se dissolveria antes que alguém desse por isso.
O portão secreto continuava aberto. Alcancei-o de algum modo e parei apoiando o ombro contra o portal. Havia sangue nos meus olhos também. Limpei-o com a manga molhada.
Ralf desaparecera. O porteiro também. O archote ardia mortiço no suporte e à luz fumacenta o cubículo e a escada encontravam-se vazios. O castelo estava silencioso. No alto das escadas a porta encontrava-se parcialmente aberta e vi luz e ouvi vozes. Vozes baixas, ansiosas, mas sem temor. O grupo Uther continuava a manter o controle; o alarme não fora dado.
Estremeci ao frio do amanhecer. Em algum lugar, sem que tivessem percebido, a capa caíra-me do braço. Não me dei ao trabalho de procurá-la. Desencostei-me e tentei aprumar-me sozinho. Consegui. Comecei a descer pelo caminho na direção da baía.
Havia apenas claridade suficiente para ver o caminho — claridade suficiente também para notar o penhasco pavoroso e as profundezas atroadoras lá embaixo. Mas, acho que estava tão ocupado com a fraqueza do meu corpo, com o simples ato mecânico de manter o corpo erecto, a mão boa funcionando e a quebrada fora de ação, que nem uma só vez pensei no mar ou na perigosa estreiteza da faixa de rocha. Venci o primeiro trecho depressa, e então aferrei-me ao caminho, quase que arrastando-me pela rampa íngreme, em meio aos tufos de vegetação e ao ruído do cascalho sob meus pés. À medida que o caminho descia, o mar parecia rugir mais próximo de mim até que senti o borrifo das grandes ondas, o sal misturando-se ao sangue salgado no meu rosto. A maré estava cheia pela manhã, as ondas ainda altas com o vento da noite, erguendo línguas geladas pela rocha e explodindo junto a mim com um baque oco, que fazia estremecer todos os meus ossos, e encharcava a trilha, pela qual eu descia, arrastando-me, aos tropeções.
Encontrei-o a meio caminho da praia, de bruços, a um palmo da beirada. Um braço caía pela borda e, na ponta, a mão inerte balançava com o deslocamento de ar produzido pelas ondas. A outra mão parecia ter enrijecido enganchada num pedaço da rocha. Os dedos estavam escuros de sangue seco.
O caminho era apenas suficientemente largo. Consegui de algum modo virá-lo, puxando e arrastando o melhor que pude até colocá-lo encostado ao penhasco. Ajoelhei-me entre ele e o mar.
— Cadal, Cadal!
Sua pele estava fria. Na semi-obscuridade vi sangue no seu rosto e o que parecia um filete grosso saindo de um ferimento junto ao couro cabeludo. Levei a mão ao ferimento; era um corte, mas não chegaria para matá-lo. Tentei sentir suas pulsações, mas a mão entorpecida escorregava na sua pele molhada e eu não conseguia sentir nada. Puxei sua túnica molhada, mas não conseguia abri-la; então um colchete cedeu e ela rasgou-se, descobrindo-lhe o peito.
Quando vi o que o pano ocultava, concluí que não era preciso auscultar-lhe o coração. Puxei o tecido empapado de volta como se isto pudesse aquecê-lo e acocorei-me, só então me dando conta de que os homens desciam pela trilha do castelo.
Uther contornou o penhasco com tanta facilidade como se caminhasse pelo chão do palácio. Trazia a espada na mão, a capa longa apanhada sobre o braço esquerdo. Ulfin acompanhava-o como um fantasma.
O Rei parou junto de mim e por alguns momentos permaneceu calado. Então tudo o que disse foi:
— Morto?
— Sim.
— E Jordan?
— Morto também, imagino eu, do contrário Cadal não teria chegado tão longe para avisar-nos.
— E Brithael?
— Morto.
— Você sabia de tudo isso antes de virmos esta noite?
— Não.
— Nem da morte de Gorlois?
— Não.
— Se fosse um profeta como diz ser, teria sabido. — Sua voz estava sumida e amargurada. Ergui os olhos. Seu rosto estava calmo, a febre fora-se, mas os olhos cor de ardósia, à luz acinzentada, estavam fatigados e desolados.
Resumi:
— Eu lhe disse que tinha de confiar no tempo. Essa era a hora. Fomos bem sucedidos.
— E, se tivéssemos esperado até amanhã, esses homens e o seu criado ainda estariam vivos, Gorlois morto, a mulher viúva... E minha para reivindicar sem mortes nem maledicência.
— Mas amanhã teria gerado um filho diferente.
— Um filho legítimo — retorquiu rápido. — E não um bastardo como fizemos esta noite. Pela cabeça de Mithras, acha realmente que o meu nome e o dela podem resistir ao trabalho desta noite? Mesmo que nos casemos esta semana, você sabe o que os homens dirão. Que sou o assassino de Gorlois. E há homens que continuarão a acreditar que ela de fato estava grávida dele segundo ela lhes informou, e que a criança é dele.
— Não dirão isso. Não há um só homem que duvide de que é seu, Uther, e Rei de toda a Bretanha por direito de nascimento.
Ele soltou uma exclamação, não um riso, mas que continha tanto divertimento quanto desprezo.
— Acha que voltarei a escutá-lo? Vejo agora em que consiste a sua mágica, esse poder de que você fala... Não passa de velhacaria humana, uma tentativa de estadismo que meu irmão lhe ensinou a apreciar, utilizar e acreditar que era o seu mistério. É uma impostura prometer aos homens o que querem, para fazê-los pensar que você pode conceder-lhes alguma coisa, mas manter o preço em segredo, deixando-os pagarem sozinhos.
— É Deus quem mantém o preço secreto, Uther, e não eu.
— Deus? Deus? Que Deus? Já o ouvi falar de tantos deuses. Se se refere a Mithras...
— Mithras, Apoio, Arthur, Cristo, chame-o como quiser — disse eu. — Que importa o nome que os homens dêem à luz? É a mesma luz e os homens devem viver de acordo com ela ou morrer. Só sei que Deus é a fonte de toda a luz que tem iluminado o mundo, e que a sua vontade corre pelo mundo e passa por nós como um grande rio, e não podemos fazê-lo parar ou voltar, só podemos beber dele enquanto vivemos e entregar-lhe o nosso corpo quando morrermos.
O sangue escorria da minha boca outra vez. Ergui a manga para limpá-lo. Ele viu, mas sua expressão não se alterou. Duvido mesmo de que tivesse ouvido o que eu dizia, ou de que tivesse conseguido ouvir-me com o estrondo do mar. Disse apenas, com aquela mesma indiferença que se erguia entre nós como uma parede:
— Isso são apenas palavras. Você usa até Deus para conseguir os seus fins. É Deus quem me ordena fazer essas coisas, é Deus quem exige o pagamento, é Deus quem decide o que os outros devem pagar... Por quê, Merlin? Pela sua ambição? Pelo grande profeta de quem os homens falam com a respiração contida e reverenciam mais do que o Rei ou seu sumo sacerdote? E quem é que paga essa dívida para com Deus por executar os seus planos? Não você. Os homens que fazem o seu jogo é que pagam o preço. Ambrosius, Vortigern, Gorlois. Esses outros homens aqui esta noite. Mas você nada paga. Nunca.
Uma onda quebrou junto a nós e a espuma choveu sobre o ressalto, caindo no rosto de Cadal. Curvei-me para limpá-lo junto com um pouco de sangue.
— Não — respondi. Uther continuou:
— Digo-lhe, Merlin, não vai usar-me. Não vou ser mais um boneco que você controla com cordões. Portanto, afaste-se de mim. E digo-lhe mais. Não reconhecerei o bastardo que gerei esta noite.
Era um rei falando, irrespondível. Uma silhueta imóvel e fria; por trás do seu ombro a estrela nítida contra o fundo cinzento. Fiquei calado.
— Está-me ouvindo?
— Sim.
Tirou a capa do braço e atirou-a para Ulfin, que a segurou para que ele a vestisse. Colocou-a nos ombros e olhou para mim de novo. — Pelos serviços que tenha prestado, guardará a terra que lhe dei. Volte para as suas montanhas galesas e não me perturbe mais.
Eu disse, desanimado:
— Não o perturbarei mais, Uther. Não voltará a precisar de mim.
Ele ficou silencioso por um momento. Então disse, brusco:
— Ulfin irá ajudá-lo a carregar o corpo para baixo. Afastei-me.
— Não há necessidade. Deixe-me agora.
Uma pausa preenchida com o rugido do mar. Eu não tivera intenção de falar assim, mas já não ligava, nem sabia o que dizia. Só queria que ele se fosse. A ponta da sua espada estava nivelada com os meus olhos. Vi-a mover-se e faiscar e por um momento pensei que ele se encontrava o bastante enraivecido para usá-la. Então, reluziu no alto e foi guardada na bainha. Ele voltou-se e seguiu o seu caminho trilha abaixo. Ulfin desviou-se de mansinho, sem dizer palavra, e acompanhou o amo. Antes que alcançassem a curva seguinte, o mar abafara o ruído dos seus passos.
Virei-me e encontrei Cadal a observar-me.
— Cadal!
— Aí vai um rei! — Sua voz era um murmúrio, mas era a mesma, rouca e divertida. — Dê-lhe alguma coisa que jura que está morrendo para ter, e então "acha que posso resistir ao trabalho desta noite?" diz ele. Uma boa noite de trabalho fez ele e tem mesmo esse aspecto.
— Cadal...
— Você também. Está ferido... sua mão? Sangue no seu rosto?
— Não é nada. Nada que não tenha conserto. Não se incomode com isso. Mas você... você...
Ele mexeu de leve a cabeça. — Não adianta. Deixe estar. Estou bastante confortável.
— Não dói agora?
— Não estou todo frio.
Acheguei-me a ele, tentando proteger o seu corpo com o meu do borrifo que explodia quando as ondas batiam na pedra. Tomei a mão dele na minha. Não podia aquecê-la esfregando-a, mas abri a túnica e coloquei-a de encontro ao peito.
— Receio que tenha perdido minha capa — disse eu. — Jordan está morto?
— Sim. — Ele aguardou um momento. — O que... aconteceu lá em cima?
— Correu tudo conforme planejamos. Mas Gorlois atacou de Dimilioc e foi morto. É por isso que Brithael e Jordan voltaram para falar à Duquesa.
— Ouvi-os chegar. Sabia que não poderia deixar de ver-me com os cavalos. Tinha de impedi-los de dar o alarme enquanto Rei ainda... — Parou para tomar fôlego.
— Não se incomode — disse eu. Já terminou e tudo está bem.
Ele me ignorou. Sua voz era apenas um leve sussurro agora, mas claro e baixo, e eu ouvia cada palavra em meio à fúria do mar.
— Subi pela trilha para encontrá-los... do outro lado da água... então, quando emparelhamos, pulei o rio para tentar pará-los. — Ele esperou um pouco. — Mas Brithael... aí está um guerreiro. Rápido como uma cobra. Nunca hesitou. Espada direto no meu corpo e passou por cima de mim. Deixou Jordan para acabar de me liquidar.
— Erro dele.
Os músculos de sua face moveram-se de leve. Era um sorriso. Passado algum tempo, perguntou-me:
— Ele viu os cavalos, afinal?
— Não. Ralf estava na porta quando ele chegou e Brithael apenas perguntou se alguém estivera no castelo, porque encontrara um cavaleiro embaixo. Quando Ralf respondeu que não, aceitou. Deixamos que entrasse e então matamo-lo.
— Uther. — Era uma presunção, não uma pergunta. Seus olhos estavam fechados.
— Não. Uther ainda estava com a Duquesa. Eu não poderia arriscar que Brithael o apanhasse desarmado. Tê-la-ia matado também.
Seus olhos abriram-se, momentaneamente claros e surpresos. - Você?
— Vamos, Cadal, isto dificilmente seria um elogio. — Dei-lhe um sorriso. — Se bem que não me tenha portado à altura do mestre, receio. Foi uma luta muito suja. O Rei nem teria reconhecido as regras. Improvisei à medida que se desenvolvia.
Desta vez era realmente um sorriso.
— Merlin... pequeno Merlin, que não sabia nem sentar-se num cavalo... Você me mata.
A maré devia estar mudando. A onda que se ergueu, rugindo a seguir, lançou apenas um borrifo muito leve, que caiu sobre os meus ombros como neblina. Eu disse:
— Eu o matei, Cadal.
— Os deuses... — disse ele, dando um grande suspiro. Eu sabia o que isto significava. Seu tempo esgotava-se. À medida que a luz aumentava, eu podia ver quanto sangue escorrera para a trilha molhada. — Ouvi o que o Rei disse. Será que não poderia ter acontecido... sem isso?
— Não, Cadal.
Seus olhos fecharam-se um instante e reabriram-se.
— Bem — foi só o que ele disse, mas naquela sílaba estava toda a fé resignada dos últimos oito anos. Seus olhos começavam a embranquecer agora sob a pupila e o queixo afrouxava... Passei o braço bom por trás dele e ergui-o um pouco. Falei claro e rápido:
— Acontecerá como meu pai desejava e como Deus quis através de mim. Ouviu o que Uther disse a respeito da criança. Isto não altera nada, e por causa do trabalho desta noite, Ygraine vai ter o filho e vai mandá-lo embora assim que nascer, para longe do Rei. Vai mandá-lo para mim e eu o porei fora do alcance do Rei e o guardarei, ensinando-lhe tudo o que Galapas me ensinou, e Ambrosius, e você, e até mesmo Belasius. Ele será a soma das nossas vidas e, quando crescer, voltará e será coroado Rei em Winchester.
— Você sabe disso? Jura-me que sabe? — As palavras eram dificilmente reconhecíveis. Sua respiração saía em bolhas, ofegante. Os olhos estavam pequenos, brancos e cegos.
Ergui-o, segurando-o com força contra o meu peito. Disse carinhosamente e com bastante clareza:
— Eu sei disso. Eu, Merlin, príncipe e profeta, juro-lhe isso, Cadal.
Sua cabeça caiu para o lado sobre mim, pesada demais para ele, agora que perdia o controle dos músculos. Seus olhos deixaram de ver. Murmurou alguma coisa e então, súbita e claramente, pediu:
— Faça o sinal para mim. E morreu.
Entreguei-o ao mar com Brithael, que o matara. A maré o levaria, dissera Ralf, para longe, para tão longe quanto as estrelas do ocidente.
Afora a batida lenta dos cascos do cavalo e o retinir do metal, não havia som algum no vale. A tempestade cessara. Não havia vento e, quando passei pela primeira curva do rio, perdi até mesmo o ruído do mar. Para baixo, ao longo do rio, a névoa permanecia parada como um véu. No alto, o céu apresentava-se claro, empalidecendo na direção do nascente. Imóvel no céu, estava agora a estrela, alta e firme.
Mas, enquanto eu a observava, o céu pálido tornou-se brilhante ao seu redor, tingindo-a de ouro e chamas suaves, e a seguir, com uma onda de luz ofuscante, sobre a terra onde refulgia a estrela-arauto, raiou o novo sol.
A lenda de Merlin
Vortigern, rei da Bretanha, querendo construir uma fortaleza em Snowdon, reuniu pedreiros de muitos países, pedindo-lhes que erguessem uma torre sólida. Mas tudo que os pedreiros construíam em um dia desmoronava-se à noite e era tragado pelo solo. Então Vortigern realizou um conselho com os seus magos, que lhe disseram que deveria procurar um rapaz que nunca tivesse tido pai e que, quando o encontrasse, deveria matá-lo e salpicar o seu sangue sobre as fundações para fazer a torre suster-se. Vortigern enviou mensageiros a todas as províncias para procurar um tal rapaz, e.por fim eles chegaram à cidade que mais tarde se chamou Carmarthen. Lá, encontraram alguns rapazes que brincavam diante do portão, e cansados, sentaram-se para apreciar o jogo. Finalmente, para a tardinha, surgiu uma discussão repentina entre dois dos rapazes, cujos nomes eram Merlin e Dinabutius. Durante a briga, ouviram Dinabutius dizer a Merlin: "— Que tolo deveis ser para julgardes vossa arte à altura da minha! Aqui estou eu, nascido de sangue real, mas ninguém sabe que sois, pois nunca um pai ti vestes I" Quando os mensageiros ouviram isto, perguntaram aos presentes quem poderia ser Merlin, e foram informados de que ninguém lhe conhecia o pai, mas que a mãe era a filha do rei de Gales do Sul, e que ela vivia em companhia das freiras, na Igreja de São Pedro, naquela mesma cidade.
Os mensageiros levaram Merlin e sua mãe à presença do rei Vortigern. O Rei recebeu a mãe com todas as atenções que lhe eram devidas pelo seu nascimento, e perguntou-lhe quem era o pai do rapaz. Ela respondeu que não sabia. — Certa vez, — disse ela — quando eu e minhas damas nos encontrávamos em nossos quartos, alguém apareceu a mim sob a forma de um belo rapaz que, abraçando-me e beijando-me, permaneceu comigo algum tempo, mas depois, tão subitamente, desapareceu. Voltou muitas vezes para conversar quando me sentava sozinha, mas nunca mais lhe pus os olhos em cima. Depois de me ter perseguido desta forma por longo tempo, deitou-se comigo por instantes, enquanto sob a forma de homem, e deixou-me esperando um filho. — O Rei, admirado ante suas palavras, perguntou a Maugantius, o adivinho, se tal coisa era possível. Maugantius assegurou-lhe que tais coisas eram bem conhecidas e que Merlin deveria ter sido gerado por um dos "espíritos que existiam entre a luz e a terra" a que chamamos de incubus daemons (incubo).
Merlin, que ouvira tudo isso, exigiu, então, que lhe fosse permitido defrontar-se com os magos. — Pedi aos vossos magos que venham à minha presença e eu os provarei culpados de terem inventado uma mentira. — O Rei, tocado pela ousadia e aparente destemor do rapaz, acedeu e mandou buscar os magos. A quem Merlin falou assim: — Já que não sabeis o que estorva as fundações que estão sendo lançadas para essa torre, haveis aconselhado que a argamassa da mesma seja apagada com o meu sangue, a fim de que a torre permaneça de pé daí em diante. Agora, dizei-me o que é que jaz escondido sob a fundação, pois algo há de existir que não permite que ela se sustenha? — Mas os magos, receosos de demonstrar ignorância, permaneceram calados. Então, disse Merlin (cujo outro nome é Ambrosius): — My lord Rei, chamai vossos trabalhadores e mandai-os cavar sob a torre, e encontrareis, sob a superfície, um lago que impede vossas muralhas de manterem-se de pé. — Isto foi feito e o lago, descoberto. Merlin então ordenou que o lago fosse drenado por condutos; duas pedras, disse ele, seriam encontradas no fundo, onde dois dragões, vermelho e branco, estariam adormecidos. Quando o lago foi devidamente drenado e as pedras descobertas, os dragões despertaram e começaram a lutar ferozmente, até que o vermelho derrotou e matou o branco. O Rei, maravilhado, perguntou a Merlin o significado da visão, e Merlin, erguendo os olhos para o céu, profetizou a vinda de Ambrosius e a morte de Vortigern. Na manhã seguinte, Aurelius Ambrosius desembarcou em Totnes, Devon.
Depois de Ambrosius ter conquistado Vortigern e os saxões e ser coroado Rei, reuniu todos os mestres artesãos de toda a parte e pediu-lhes que inventassem um novo tipo de construção que durasse eternamente como monumento comemorativo. Nenhum deles foi capaz de ajudá-lo, até que Tremorinus, arcebispo de Caerleon, sugeriu que o Rei mandasse buscar Merlin, o profeta de Vortigern, o homem mais inteligente do reino "quer em predições do futuro quer na intervenção de máquinas engenhosas." Ambrosius prontamente despachou mensageiros, que encontraram Merlin no país de Gwent, na fonte de Galapas, onde costumava morar. O Rei recebeu-o com honrarias e primeiro pediu-lhe que predissesse o futuro, mas Merlin respondeu: — Mistérios de tal espécie não é sensato revelar salvo em grande necessidade. Pois, se eu os dissesse levianamente ou para fazer rir, o espírito que me ensina emudeceria e me abandonaria na hora da necessidade. — O Rei, então, perguntou-lhe sobre o monumento, mas quando Merlin o aconselhou a mandar buscar a "Dança dos Gigantes que está em Killare, uma montanha da Irlanda", Ambrosius riu-se, dizendo que era impossível mover pedras, que todos sabiam terem sido colocadas ali por gigantes. Finalmente, porém, o Rei foi persuadido a enviar seu irmão Uther, com quinze mil homens, para conquistar Gilloman, rei da Irlanda, e trazer de volta a Dança. O exército de Uther ganhou o dia, mas ao tentar desmontar o círculo gigante de Killare, e trazer as pedras, não conseguiu movê-las. Quando afinal se confessou derrotado, Merlin montou suas próprias máquinas e, por meio delas, desceu as pedras facilmente, transportou-as para os navios e enfim trouxe-as para o local próximo de Amesbury onde deveriam ser erguidas. Ali Merlin montou suas máquinas e reconstruiu a Dança de Killare em Stonehenge, exatamente como era na Irlanda. Pouco tempo depois, apareceu uma grande estrela com a forma de um dragão, e Merlin, sabendo que isso pressagiava a morte de Ambrosius, chorou amargamente, e profetizou que Uther seria rei sob o signo do dragão, e que lhe nasceria um filho "de excepcional domínio, cujo poder se estenderia por todos os reinos sob os raios (da estrela)." Na Páscoa seguinte, na festa da coroação, o rei Uther apaixonou-se por Ygraine, esposa de Gorlois, Duque de Cornwall. Cumulou-a de atenções, para escândalo da corte; ela não respondeu, mas o marido, enfurecido, retirou-se da corte sem permissão, levando a esposa e os soldados de volta para Cornwall. Uther, indignado, ordenou-lhe que voltasse, mas Gorlois recusou-se a obedecer. Então o Rei, profundamente enraivecido, reuniu um exército e marchou sobre Cornwall, queimando cidades e castelos. Gorlois não possuía tropas suficientes para enfrentá-lo, e assim colocou a esposa no castelo de Tintagel, o refúgio mais seguro, enquanto ele próprio se dispunha a defender o castelo de Dimilioc. Uther imediatamente sitiou Dimilioc, mantendo Gorlois e suas tropas presas ali, enquanto procurava uma maneira de penetrar no castelo de Tintagel para raptar Ygraine. Passados alguns dias, pediu o conselho de um dos seus criados, chamado Ulfin. — Aconselhai-me, portanto, de que maneira poderei satisfazer o meu desejo — disse o Rei — pois, se não o satisfaço, de mágoa interior, morrerei. — Ulfin, contando-lhe o que já sabia — que Tintagel era inexpugnável — sugeriu que mandasse buscar Merlin. Merlin, comovido pelo aparente sofrimento do Rei, prometeu ajudar. Pelas suas artes mágicas, transformou Uther, tornando-o semelhante a Gorlois, fez Ulfin parecer-se com Jordan, amigo de Gorlois, e ele próprio, com Brithael, um dos capitães de Gorlois. Os três partiram para Tintagel e foram admitidos pelo porteiro. Ygraine, tomando Uther por seu marido, o Duque, deu-lhe as boas-vindas, e levou-o para a cama. Assim, Uther se deitou com Ygraine aquela noite e "não lhe passou pela idéia negar-lhe aquilo que poderia desejar." Naquela noite Arthur foi concebido.
Entrementes, a luta eclodira em Dimilioc, e Gorlois, aventurando-se a sair em combate, foi morto. Mensageiros chegaram a Tinta-gel para dizer a Ygraine da morte do marido. Quando encontraram "Gorlois" aparentemente vivo, ainda trancado com Ygraine, perderam a fala, mas o Rei confessou a impostura e, alguns dias mais tarde, casou-se com Ygraine.
Uther Pendragon deveria reinar mais quinze anos. Durante esses anos não viu o seu filho Arthur, que na noite do nascimento foi levado pela porta secreta para fora de Tintagel e entregue nas mãos de Merlin, que cuidou da criança em segredo até que chegou a época de Arthur herdar o trono da Bretanha. Por todo o longo reino de Arthur, Merlin aconselhou-o e ajudou-o. Quando Merlin estava velho, apaixonou-se perdidamente por uma jovem, Vivian, que o persuadiu, como preço do seu amor, a ensinar-lhe todas as artes mágicas. Quando assim fez, ela lançou-lhe um encantamento que o deixou preso e adormecido; dizem alguns que numa gruta perto de um bosque de espinheiros; segundo outros, numa torre de cristal, e conforme outros ainda, oculto apenas pelo esplendor do ar ao seu redor. Despertará um dia, quando o rei Arthur despertar, e voltará na hora da necessidade do seu país.
Mary Stewart
Carlos Cunha 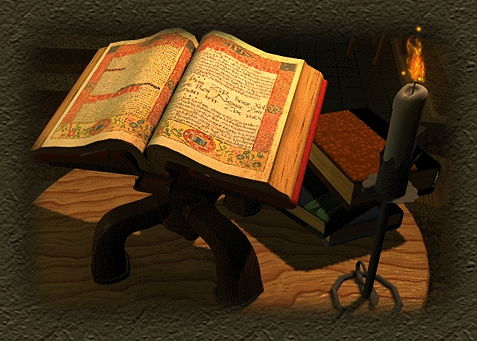 Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa