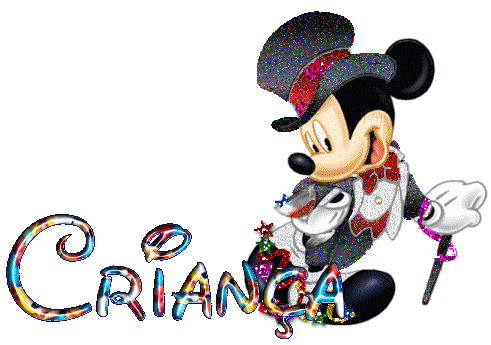Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




A FOGUEIRA DAS VAIDADES
11 - As Palavras no Chão
A Bolsa de Valores de Paris, a Bourse, só estava aberta duas horas por dia, da uma às três da tarde, ou seja, das sete às nove da manhã, hora de Nova Iorque. Por isso na segunda-feira Sherman chegou à sala de compra e venda de obrigações da Pierce & Pierce às seis e meia. Agora eram sete e meia e ele estava à sua secretária, com o telefone colado ao ouvido esquerdo e o pé direito sobre a caixa de engraxador portátil de Félix.
O ruído dos homens jovens a latir por dinheiro no mercado das obrigações era agora mais forte na sala, porque o mercado, àquela hora, ganhava uma dimensão internacional. Do outro lado do corredor estava o jovem senhor das pampas, Arguello, com o telefone colado ao ouvido direito, muito provavelmente a falar para Tóquio. Já estava na sala pelo menos há doze horas quando Sherman chegara, a trabalhar numa vultosa venda de obrigações do Tesouro americanas aos serviços postais japoneses. Sherman não percebia como é que aquele miúdo tinha conseguido deitar a mão a semelhante negócio, mas o caso é que tinha. A bolsa de Tóquio funcionava das sete e meia da tarde às quatro da manhã, hora de Nova Iorque. Arguello usava uns suspensórios extravagantes onde se via estampada a imagem de Tweety Pie, o canário dos desenhos animados, mas não fazia mal. Estava a trabalhar, e Sherman estava em paz.
Felix, o engraxador, estava todo curvado, a friccionar o sapato direito de Sherman, um sapato de passeio New & Lingwood, com o seu pano polido pelo uso. Sherman gostava da maneira como a elevação do seu pé lhe flectia e contraía a perna, retesando-lhe o lado de dentro da coxa. Fazia-o sentir-se atlético. Gostava de ver Felix assim curvado, debruçado, como se envolvesse o sapato com o seu corpo e a sua alma. Via o alto da cabeça do negro, que estava apenas umas vinte polegadas abaixo do nível dos seus olhos. Felix tinha uma calva perfeitamente redonda, cor de caramelo, no alto do crânio, o que era estranho, porque o cabelo que a rodeava era bastante espesso. Sherman gostava daquela calva perfeitamente redonda. Felix era submisso e brincalhão; não era jovem, nem ressentido, nem desagradável.
Felix tinha um exemplar do City Light no chão, ao lado da caixa de engraxador, e ia lendo enquanto trabalhava. O jornal estava aberto na segunda página e dobrado ao meio. A página 2 incluía a maior parte do noticiário internacional do City Light. O título no alto da folha dizia: BEBÉ DÁ UM MERGULHO DE 200 PÉS — E SOBREVIVE. O caso passara-se em Elaiochori, na Grécia. Mas não havia problema. Os tablóides já não eram para Sherman um motivo de terror. Cinco dias tinham passado e não houvera uma única palavra em qualquer jornal acerca de um terrível acidente na rampa de uma via rápida do Bronx. Era como Maria dissera. Tinham-se visto envolvidos num combate em plena selva, tinham lutado e vencido, e a selva não chorava os seus feridos. Naquela manhã Sherman comprara apenas o Times na pequena loja da Lexington. E no trajecto de táxi lera as notícias acerca da União Soviética, do Sri Lanka e da luta intestina no Federal Reserve, em vez de abrir imediatamente o jornal na Secção B, Notícias da Metrópole.
Após uma semana inteira de medo, podia agora concentrar-se nos números verdes fluorescentes que deslizavam no écran preto. Podia concentrar-se no negócio que tinha entre mãos... a Giscard...
Bernard Levy, o francês da Traders Trust Co., com quem negociava, estava agora em França a fazer uma última investigação sobre a Giscard antes de a Traderse decidir a investir os seus 300 milhões, fechando o negócio e mandando imprimir o contrato... as migalhas... A expressão carregada de desprezo que Judy empregara passou-lhe fugazmente pelo espírito... migalhas... e então?... Eram migalhas de ouro...
Concentrou-se na voz de Levy, no outro extremo da carambola do satélite:
— Pois é, Sherman, o problema é este. O montante da dívida que o Governo acaba de revelar pôs toda a gente nervosa por estas bandas. O franco está a descer, e vai com certeza descer mais, e ao mesmo tempo, como você sabe, o ouro também está a descer, embora por motivos diferentes. A questão é saber quando vai parar a descida, e...
Sherman deixou-o falar. Não era invulgar uma pessoa ficar um bocadinho nervosa nas vésperas de gastar uma soma como 300 milhões de dólares. Fazia seis semanas que falava com Bernard — Sherman tratava-o pelo nome próprio — quase todos os dias, e mal se lembrava da cara dele. O meu doughnut francês, pensou — e logo lhe ocorreu que aquilo era a piada de Rawlie Thorpe, o cinismo, o sarcasmo, o pessimismo, o nihilismo de Rawlie, outras tantas maneiras de dizer a fraqueza de Rawlie, por isso baniu do seu espírito o doughnut como banira migalhas. Naquela manhã estava uma vez mais do lado da força e do destino. Estava quase capaz de retomar a noção de... senhorio do universo... A toda a sua volta faziam-se ouvir os latidos dos jovens titãs...
— Estou nos dezasseis, dezassete. O que é que ele quer fazer?
— Quero vinte e cinco das de dez anos!
— Tirem-me daqui!
... que soavam de novo como música. Felix fazia deslizar o trapo para um lado e para o outro. Sherman gostava de sentir a pressão do trapo nos ossos do metatarso. No fundo, era uma pequena massagem ao seu eu — aquele homem robusto e corpolento, com a sua careca no alto da cabeça, ali a seus pés, a dar-lhe lustro nos sapatos, ignorando em absoluto as alavancas com que Sherman podia fazer mover outro país, outro continente, para o que lhe bastava projectar algumas palavras contra um satélite.
— O franco não constitui problema — disse a Bernard. — Podemos perfeitamente compensar a descida até ao próximo mês de Janeiro ou até ao momento da transacção.
Sentiu Felix dar-lhe uma pancadinha no tacão do sapato direito. Levantou o pé, que Felix agarrou e empurrou para o outro lado da cadeira; Sherman ergueu então a perna esquerda, forte e atlética, e apoiou o pé esquerdo no estribo metálico da caixa do engraxador. Felix virou o jornal do outro lado, dobrou-o ao meio e começou a trabalhar no sapato esquerdo.
— Pois é, mas essas compensações saem caras — disse Bernard —, e até agora sempre tínhamos pensado em fechar negócio em condições muito mais favoráveis, e...
Sherman tentou imaginar o seu doughnut, Bernard, num escritório de um desses curiosos prédios modernos que os Franceses constróem, com milhares de carros minúsculos a passar e a tocar as suas buzinas de brinquedo na rua lá em baixo... em baixo... e, distraidamente os seus olhos pousaram-se no jornal que estava no chão, lá em baixo...
Eriçaram-se-lhe os pêlos dos braços. Ao alto da página, a terceira página do City Light, acabava de ler o seguinte título:
DIZ A MÃE DE UM JOVEM ESTUDANTE:
POLÍCIA IGNORA ATROPELAMENTO SEGUIDO DE FUGA
Acima do título, em caracteres brancos, mais pequenos, sobre uma faixa preta, lia-se: Com o filho às portas da morte. Mais abaixo, uma segunda barra preta que dizia: Um Exclusivo do CITY LIGHT. E, na linha seguinte: Por Peter Fallow. E, mais abaixo ainda, no meio de uma coluna de texto, vinha uma fotografia da cabeça e ombros de um rapaz negro sorridente, muito aprumado no seu casaco escuro, camisa branca e gravata às riscas. O seu rosto magro e delicado sorria.
— Acho que a única coisa sensata a fazer é ver onde é que esta coisa pára — disse Bernard.
— Bom... acho que você está a exagerar ó... eh... ó... eh... — Aquela cara! — ... ó, eh... — Aquela cara magra e delicada, agora numa fotografia de fato e gravata! Um jovem cavalheiro! — ...ó, eh, problema.
— Espero que sim — disse Bernard. — Mas de qualquer maneira não faz mal nenhum esperar.
— Esperar? — Ouça lá! Precisa de ajuda? Aquele rosto delicado, aquele rosto assustado! Uma boa pessoa! Será que Bernard tinha dito «esperar»? — Não percebo. Bernard. Agora que está tudo a postos! — Não queria que a frase soasse enfática, tão impaciente, mas tinha os olhos cravados nas palavras que via ali no chão.
"E Retendo as lágrimas, uma viúva do Bronx contou ontem ao City Light como o seu filho, um brilhante aluno de liceu, de dezoito anos, foi atropelado por um descapotável de luxo que seguia a grande velocidade — e acusou a Polícia de baixar os braços.
Mrs. Annie Lamb, funcionária do Registo de Casamentos da Câmara, disse que o filho, estudante aplicado, que na próxima semana deveria concluir o curso dos liceus na Escola Secundária Coronel Jacob Ruppert, lhe comunicara parte da matrícula do automóvel — um Mercerdes-Benz — antes de entrar em coma.
«Mas o indivíduo da Procuradoria disse que a informação não tinha valor», acrescentou, uma vez que a própria vítima era a única testemunha conhecida.
Os médicos do Hospital Linclon classificaram de «provavelmente irreversível» o coma de Henry Lamb e disseram que o seu estado era «grave».
Lamb e a mãe vivem nas Edgar Allan Poe Towers, um bairro camarário do Bronx. Descrito por vizinhos e professores como «um jovem exemplar», Henry preparava-se para ingressar no próximo Outono na universidade.
O professor de Lamb na disciplina de literatura e composição, no liceu Ruppert, Zane J. Rifkind, disse ao City Light: «É uma situação trágica. Henry conta-se entre aquela fracção excepcional dos alunos que consegue ultrapassar os muitos obstáculos que a vida no Sul do Bronx coloca no seu caminho, e concentrar-se nos seus estudos, no seu potencial e no seu futuro. Ninguém pode dizer onde ele chegaria se fosse para a universidade.»
Mrs. Lamb disse que o filho saíra do apartamento onde ambos moravam ao princípio da noite da passada terça-feira, aparentemente para ir comprar comida. Quando ia a atravessar o Bruckner Boule-vard foi atingido por um Mercedes-Benz onde iam um homem e uma mulher, ambos brancos. O carro não parou. A zona, como se sabe, é predominante-mente negra e hispânica.
Lamb conseguiu chegar ao hospital, onde lhe trataram um pulso partido e lhe deram alta. Na manhã seguinte começou a queixar-se de fortes dores de cabeça e de tonturas. Perdeu os sentidos já na sala de urgências do hospital. Apurou-se depois que sofrera um traumatismo craniano.
Milton Lubell, falando em nome do Procurador o do Bronx, Abe Weiss, afirmou que dois detectives e um procurador-adjunto tinham interrogado Mrs. Lamb e que «tinham sido iniciadas investigações», embora
haja, só no estado de Nova Iorque, 2500 Mercedes-Benz com matrículas começadas por R, a letra indicada por Mrs. Lamb. Esta disse ainda que, na opinião
do filho, a segunda letra era um E, um F, um B, umou um R. «Mesmo supondo que a segunda letra seja uma dessas cinco», disse Lubell, «ainda ficamos com
cerca de 500 carros...»
RF — Mercedes-Benz — os dados nas páginas de um milhão de jornais — tudo aquilo atingia Sherman no plexo solar, como uma tremenda vibração. A matrícula do seu carro começava por: RFH. Com uma ânsia terrível de tomar conhecimento da sua própria condenação, continuou a ler:
«... e não temos qualquer descrição do condutor, nem testemunhas, nem...»
Não pôde prosseguir. Felix dobrara o jornal por ali. O resto vinha na metade inferior da página. Tinha a cabeça a andar à roda. Estava morto por se inclinar e virar o jornal do outro lado — e morto por não ter de saber o que a outra metade da folha revelaria. Entretanto, Bernard Levy continuava a falar do lado de lá do oceano, na sua voz monótona retransmitida por um satélite de comunicações AT & T.
— ... falámos de noventa e seis, se é isso que você entende por «tudo a postos». Mas agora já nos começa a parecer um bocado caro, porque...
Caro? Noventa e seis? Não falam do segundo rapaz! Não falam da rampa de acesso, da barricada, da tentativa de assalto! O preço estava fixado desde o início! Como é que ele podia ir buscar aquilo agora? Seria possível... que afinal não tivesse sido uma tentativa de assalto? Tinha pago por elas, em média, noventa e quatro. A diferença era apenas de dois pontos! Não podia baixar o preço! Aquele rapaz, com um ar tão simpático, a morrer! O meu carro! Tinha de se concentrar... na Giscard! Não podia falhar agora, ao fim daquele tempo todo... e o jornal crepitava, no chão.
— Bernard... — Sentia a boca seca. — Ouça... Bernard...
— Sim?
Mas talvez, se ele tirasse o pé de cima da caixa do engraxador...
— Felix? Felix? — Felix não pareceu ouvi-lo. A calva perfeitamente redonda e cor de caramelo no alto da sua cabeça continuou a mover-se para trás e para diante, enquanto dava lustro ao sapato de passeio New & Lingwood.
— Felix!
— Está lá, Sherman? O que é que você disse? — No seu ouvido, a voz do doughnut francês a empatar a venda de 300 milhões de obrigações com garantia-ouro... Diante dos seus olhos, o alto da cabeça de um negro sentado na sua caixa de engraxador, rodeando de atenções o seu pé esquerdo.
— Desculpe-me, Bernard!... Só um momento... Felix!
— Você disse Felix?
— Não, Bernard! Quer dizer, espere só um minuto... Felix!
Felix parou de engraxar o sapato e ergueu os olhos.
— Desculpe, Felix, mas preciso de estender a perna, só um segundo.
O doughnut francês: — Está, Sherman? Não estou a perceber!
Sherman levantou o pé do estribo metálico e esticou a perna com aparato, como se a sentisse dormente.
— Está, Sherman? Está lá?
— Estou, sim, Bernard. Só um segundo, por favor. Como ele esperava, Felix aproveitou a oportunidade
para virar o City Light do outro lado, de modo a poder ler a metade inferior da página. Sherman tornou a pôr o pé no estribo, Felix tornou a curvar-se sobre o sapato, e Sherman inclinou a cabeça, esforçando-se por ler as palavras no chão. Aproximou tanto a cabeça da de Felix que o negro ergueu os olhos. Sherman endireitou-se e sorriu com um ar confuso.
— Desculpe! — disse.
— Pede desculpa de quê? — perguntou o doughnut francês.
— Desculpe, Bernard, estava a falar com outra pessoa. Felix abanou a cabeça com um ar reprovador, depois
inclinou-se e retomou o seu trabalho.
— «Desculpe»? — repetiu o doughnut francês, ainda perplexo.
— Deixe lá, Bernard. Estava a falar com outra pessoa. — Devagarinho, Sherman tornou a baixar a cabeça e fixou o olhar na página impressa, lá em baixo.
«... ninguém que nos possa dizer o que aconteceu, já que o próprio rapaz não está em condições de o fazer.»
— Sherman, está lá? Sherman...
— Sim, Bernard. Desculpe. Ah... pode-me repetir o que estava a dizer acerca do preço? É que, Bernard, já tínhamos chegado a acordo sobre o assunto. Já há várias semanas!
— Quer que eu repita tudo outra vez?
— Se não se importa. É que me interromperam, aqui.
Um grande suspiro, directamente da Europa, via Satélite. — Bom, eu estava a dizer que passámos de uma situação estável para uma situação instável. Deixou de ser possível extrapolar a partir dos números de que falámos quando você fez a sua apresentação...
Sherman tentou prestar atenção às duas coisas ao mesmo tempo, mas as palavras do francês em breve se converteram num murmúrio indistinto, um murmúrio indistinto transmitido por satélite, enquanto ele devorava a folha impressa, visível abaixo do crânio do engraxador:
Mas o Rev. Reginald Bacon, presidente da Solidariedade Sem Fronteiras, associação com sede em Harlem, chamou a isto «a velha história de sempre. A vida humana, quando se trata da vida humana de um negro ou de um latino-americano, não tem grande valor aos olhos da estrutura do Poder. Se fosse um estudante branco que tivesse sido atropelado por um condutor negro na Park Avenue, eles já não se preocupavam tanto com as estatísticas e os obstáculos legais.»
Qualificou ainda de «escandaloso» o facto de o hospital não ter diagnosticado em devido tempo o traumatismo craniano de Lamb, e exigiu a realização
de um inquérito.
Entretanto, alguns vizinhos foram ao pequeno mas bem arranjado apartamento de Mrs. Lamb nas Poe Towers para lhe dar o seu apoio enquanto ela
reflectia neste último episódio da história trágica da sua família.
«O pai do Henry foi morto ali mesmo, faz agora seis anos», disse ela ao City Light, apontando para uma janela junto da entrada do prédio. Monroe Lamb, então com 36 anos, foi abatido uma noite a tiro por um assaltante, ao regressar a casa do seu emprego de técnico de ar condicionado.
«Se eu perder o Henry, vai ser o meu fim, e também não há-de haver quem se importe com isso», acrescentou Mrs. Lamb. «A Polícia nunca descobriu quem matou o meu marido, e nem sequer se dispõe a procurar a pessoa que fez isto ao Henry.»
Mas o Rev. Bacon garantiu que ia pressionar as autoridades até estas fazerem alguma coisa: «Se a estrutura do Poder nos diz que não lhe interessa o que possa acontecer aos melhores de entre os nossos jovens, à esperança destas ruas cruéis, então é tempo de enviarmos um recado à estrutura do Poder: Os vossos nomes não estão gravados nas tábuas que vieram da montanha. As eleições estão à porta, e vocês podem ser substituídos.»
Abe Weiss, Procurador do Bronx, vai ter de enfrentar um desafio difícil nas primárias de Setembro do Partido Democrático. O deputado estadual Robert Santiago tem o apoio de Bacon, do deputado Joseph Leonard e de outros dirigentes negros, bem como da administração do Sul e do Centro do Bronx, com uma forte proporção de porto-riquenhos.
— ... por isso o que eu digo é o seguinte: vamos deixar o caso em suspenso por umas semanas, a ver se as partículas assentam. Assim ficamos a saber onde é que a descida pára. Ficamos a saber se os preços de que falámos são realistas. Ficamos a saber...
Sherman percebeu de repente o que é que aquele dough-nut — sapo assustado — estava a dizer. Mas ele não podia esperar — ainda por cima com aquela história a ameaçá-lo — precisava de fechar negócio —já!
— Bernard, escute. Nós não podemos esperar. Já gastámos imenso tempo a preparar as coisas. Não vamos agora «deixá-las assentar»! Já está tudo assente. Agora temos de ir para a frente! Você está a levantar problemas que não existem. Temos é de ganhar coragem e avançar! Todos esses assuntos já foram mais que discutidos, há imenso tempo! Não nos interessa estar a ver dia a dia o que acontece ao franco e ao ouro!
Ainda não acabara de falar e já reconhecera a insistência fatal da sua voz. Na Wall Street, um vendedor ansioso era um vendedor morto. E ele sabia-o! Mas não conseguiu conter-se...
— Mas também não posso muito bem fechar os olhos, Sherman.
— Ninguém lhe pede que o faça. — Thok. Uma pequena pancada. Um rapaz alto e delicado, um aluno brilhante! Uma ideia terrível apossou-se por completo do seu espírito:
Afinal eram só dois rapazes bem-intencionados que queriam ajudar... Ouça lá!... A rampa, o escuro... Mas então e o outro, o grandalhão? Não falavam no segundo rapaz... Não falavam da rampa de acesso... Não fazia sentido... Só se fosse uma coincidência, talvez! — outro Mercedes! —— havia 2500...
Mas logo no Bronx, e na mesma noite?
O horror da situação sufocou-o uma vez mais.
— Lamento muito, mas isto não é como o tiro ao arco Zen, Sherman. Vamos ter de deixar descansar o assunto durante algum tempo.
— O que é que você me está a dizer? O que é isso de «algum tempo», caramba? — Seria possível que eles fossem controlar 2500 automóveis ?
— Bom, para a próxima semana ou para a outra a seguir. Eu diria, no máximo, umas três semanas.
— Três semanas?
— Temos uma série de grandes investimentos a fazer agora. Não podemos nada contra isso.
— Eu não posso esperar três semanas, Bernard! Ouça, você levantou alguns pequenos problemas... que diabo, problemas que nem chegam a ser problemas. Meu Deus, todas essas eventualidades já eu as previ e recapitulei algumas vinte vezes! Vocês têm de avançar agora! Mais três semanas não vão fazer diferença nenhuma!
Na Wall Street, os vendedores também nunca diziam ter de.
Uma pausa. Depois a voz branda e paciente do dough-nut, de Paris, via satélite: — Sherman. Por amor de Deus. Quando estão em jogo 300 milhões ninguém tem de fazer seja o que for assim à toa.
— Claro que não, claro que não. É só que eu sei que já expliquei... Eu sei que... Eu sei...
Sabia que tinha de abandonar o mais rapidamente possível aquele tom de insistência desorientada e voltar a ser a personagem equilibrada e calma do quinquagésimo andar da Pierce & Pierce que o doughnut da Tradersempre conhecera, uma personagem cheia de confiança e de uma puissance (1) inabalável, mas... era de certeza o carro dele. Não havia dúvida! Mercedes, RF, um homem e uma mulher brancos!
O incêndio alastrava dentro da sua cabeça. O homem negro continuava a dar-lhe lustro ao sapato. Os sons da sala...
(1) Em francês no original. (N. do T.)
...de compra e venda de obrigações aturdiram-no como rugidos de feras:
— Ele está a comprá-las a seis, mas você só oferece cinco!
— Cancela! O Federal mudou de táctica!
— O Federal está a comprar os cupões todos! Vai tomar conta do mercado!
— Foda-se, que grande merda! Tirem-me daqui!
Reinava a maior confusão na Divisão 62, onde presidia o juiz Jerame Meldnick. Sentado à mesa do escrivão, Kramer observava, divertido e cheio de desprezo, o ar de perplexidade de Meldnick. Lá em cima, na tribuna, o rosto grande e pálido de Meldnick parecia um queijo Gouda. Inclinava-o na direcção do seu secretário, Jonathan Steadman. Os poucos fundamentos jurídicos aproveitáveis das sentenças de Jerome Mednick estavam alojados no cérebro de Steadman. Meldnick era secretário-geral do sindicato dos professores, um dos maiores e mais solidamente democráticos, sindicatos do estado, quando o Governador o nomeara juiz da divisão criminal do Supremo Tribunal do Estado, em reconhecimento do seu potencial acumulado no campo da jurisprudência e das suas várias décadas de dedicação canina ao partido. Meldnick já não tinha quaisquer contactos com o mundo do direito e dos tribunais desde o tempo em que, logo a seguir a terminar o curso, fazia recados para um tio seu, um advogado que fazia testamentos e contratos de compra e venda de propriedades e vendia títulos de garantia num escritório de dois andares do Queens Boulevard.
Irving Bietelberg, advogado de um réu chamado Willie Francisco, estava nas pontas dos pés do outro lado da tribuna, espreitando lá para cima e esforçando-se por dizer alguma coisa. O réu, Francisco, muito gordo, com vinte e dois anos, de bigodinho e camisa desportiva às riscas vermelhas e brancas, estava de pé e gritava a Bietelberg: — Psst! Você aí! Psst! — Três guardas do tribunal estavam a postos, atrás e de ambos os lados de Willie, para o caso de ele passar das marcas. Ficariam muito contentes se pudessem dar cabo dele, uma vez que o rapaz matara um polícia sem pestanejar. O polícia prendera-o quando ele saíra de um oculista com uns óculos de sol Porsche na mão. Os óculos de sol Porsche eram muito apreciados na zona Morrisania do Bronx, porque custavam 250 dólares e tinham a palavra Porsche gravada a branco no bordo superior da lente esquerda. Willie entrara no oculista com uma receita falsificada de óculos de sol e declarara que queria uns óculos Porsche. O empregado explicara-lhe que não podia ser, porque a segurança social não ia reembolsar a loja por óculos tão caros. Então Willie agarrara nos Porsches, saíra da loja a correr e matara o polícia a tiro.
Era um perfeito e acabado caso de merda; Jimmy Caughey nem sequer tinha precisado de se cansar para vencer a causa. Mas então acontecera aquela coisa bizarra. O júri saíra da sala na tarde anterior, e ao fim de seis horas regressara sem ter conseguido chegar a acordo sobre o veredicto. Naquela manhã, ia Meldnick a meio da ordem do dia quando o júri mandara dizer que chegara a um veredicto. Os jurados entraram, em fila indiana, e o veredicto era culpado. Bietelberg, seguindo a rotina habitual, pediu que se contassem os votos. «Culpado», «culpado», «culpado», foram dizendo os jurados todos, até que o escrivão chegou a um velhote branco e obeso, Lester McGuigan, que também disse «culpado» mas depois fitou Willie Francisco nos olhos desprovidos de óculos de sol Porsche e acrescentou: — Não tenho a certeza de que seja a decisão mais acertada, mas tenho de votar de alguma maneira, e preferi votar assim.
Willie Francisco pôs-se de pé de um salto e berrou: — Isto é ilegal! — sem dar tempo a Bietelberg para ser ele a dizê-lo; e depois disso a confusão instalou-se. Meldnick escondeu a cabeça nos antebraços e chamou Steadman; e era ainda nesse pé que as coisas estavam. Jimmy Caughey nem queria acreditar no que ouvira. Toda a gente sabia que os júris no Bronx eram imprevisíveis, mas Caughey julgara ter em McGuigan um dos seus apoios mais firmes. Não só era branco como era irlandês, um irlandês que passara toda a sua vida no Bronx e com certeza sabia que um indivíduo chamado Jimmy Caughey era também ele um digno e honesto irlandês. Mas afinal McGuigan era um desses velhotes com excesso de tempo que pensam de mais e começam a ver as coisas de uma maneira demasiado filosófica, até mesmo os casos como o de Willie Francisco.
Kramer divertia-se com a confusão de Meldnick mas não com a de Jimmy Caughey. Por Jimmy só sentia comiseração. Kramer estava na Divisão 62 com um caso de merda do mesmo género e tinha a recear catástrofes ridículas do mesmo género. Estava ali para ouvir o advogado Gerard Scalio ler um requerimento de audiência para apresentação de provas no caso de Jorge e Juan Terzio, os «dois perfeitos palhaços». Os réus tinham tentado assaltar uma mercearia coreana na Fordham Road mas, não conseguindo descobrir
em que botões da caixa registadora era preciso carregar, tinham-se contentado com tirar dois anéis dos dedos de uma cliente. Isto exasperou a tal ponto um outro cliente, Charlie Esposito, que este correu atrás deles, apanhou Jorge, atirou-o ao chão e disse-lhe: «Sabem uma coisa? Vocês os dois são uns perfeitos palhaços.» Jorge meteu a mão na camisa, sacou da arma e disparou à queima-roupa, matando-o.
Um autêntico caso de merda.
Enquanto o escarcéu aumentava e Jimmy Caughey revi-rava os olhos com um ar cada vez mais desesperado, Kramer pôs-se a pensar num futuro mais brilhante. Nessa noite encontrar-se-ia, finalmente, com ela... a Rapariga do Bâton Castanho.
No Muldownys, um restaurante do East Side, no cruzamento da Terceira Avenida com a Rua 78... paredes de tijolo aparente, madeiras claras, candeeiros de latão brilhante, vidros martelados, plantas pendentes do tecto... aspirantes a actrizes a servir às mesas... celebridades... mas informal e não muito caro, ou pelo menos era o que tinha ouvido dizer... o fervilhar frenético de dois jovens de Manhattan a viver... a Vida... uma mesa para dois... E diante dele o rosto incomparável de Miss Shelly Thomas...
Uma vozinha tímida dizia-lhe que não devia fazer aquilo, pelo menos por enquanto. O caso estava encerrado, na parte que competia ao tribunal; Herbert 92X fora condenado em boa e devida forma e o júri fora dissolvido. Então que mal havia em encontrar-se com uma jurada e conversar com ela acerca da natureza das deliberações naquele caso? Nenhum... só que a sentença ainda não fora pronunciada, portanto tecnicamente o caso ainda não estava encerrado. A solução mais prudente seria esperar. Mas entretanto Miss Shelly Thomas podia... desinteressar-se... recompor-se da sua bebedeira de crime... deixar de se sentir fascinada pela magia do jovem e intrépido procurador-adjunto de lábios de ouro e robustos esternomastoideus...
Uma voz forte e máscula perguntou-lhe se ia passar o resto da vida a jogar mesquinhamente pelo seguro. Encheu o peito de ar. Ia comparecer ao encontro. Ia, sim senhor! E a excitação da voz dela! Era quase como se tivesse estado à espera que ele lhe telefonasse. Lá estava ela no seu escritório da Prischker & Bolka, com tijolos de vidro e balaustradas metálicasbrancas, como os escritórios da MTV, lá estava ela no coração da Vida, e ainda a respirar ao ritmo selvagem da vida nua e crua do Bronx, ainda arrebatada pela força daqueles homens másculos que enfrentavam os predadores...
Oh, estava a vê-la, a vê-la... Fechou os olhos com força... A farta cabeleira castanha, o rosto de alabastro, o bâton...
— Ei, Kramer! — Abriu os olhos. Era o escrivão. — Uma chamada para si.
Levantou o auscultador do telefone que estava sobre a mesa do escrivão. Lá em cima, na tribuna, Meldnick, na sua consternação espessa como queijo, ainda não terminara o conciliábulo com Steadman. Willie Francisco continuava a gritar: — Psst! Você aí! Psst!
— Kramer — disse Kramer.
— Larry, daqui Bernie. Viste o City Light de hoje?
— Não.
— Vem um artigo grande na página 3 sobre o caso do Henry Lamb. Diz que a Polícia está a empatar, e nós também. Diz que tu explicaste a essa tal Mrs. Lamb que a informação que ela nos deu não tinha valor. É um artigo bem grande.
— O quêl
— Não vem lá o teu nome. Diz só «o indivíduo da Procuradoria».
— Mas é uma perfeita mentira, Bernie! Foda-se, eu disse-lhe precisamente o contrário! Disse que ela nos tinha dado uma boa pista, só que não era suficiente para abrir um processo!
— Bom, mas o caso é que o Weiss está pior que estragado. Anda a dar com a cabeça nas paredes. O Milt Lubell aparece-me aqui de três em três minutos. O que é que estás a fazer neste momento?
— Estou à espera de um requerimento de audiência no caso dos irmãos Terzio, sabes, os «dois palhaços». O caso Lamb! Meu Deus do céu! O Milt disse no outro dia que um tipo, um sacana de um inglês qualquer, lhe tinha telefonado do City Light — mas caramba, isto é demais. É um caso que não tem ponta por onde se lhe pegue. Espero que percebas isso, Bernie.
— Bom, está bem, mas escuta: vê se consegues um adiamento na história dos «dois palhaços» e vem para aqui.
— Não posso. Para variar, o Meldnick está ali na tribuna a deitar as mãos à cabeça. Um jurado acaba de voltar atrás com o veredicto de culpado no caso Willie Francisco. O Jimmy está aqui ao lado a deitar fumo pelas orelhas. E não vamos sair do mesmo sítio enquanto o Meldnick não arranjar alguém que lhe diga o que há-de fazer.
— Francisco? Oh, por amor de Deus. Quem é o escrivão que aí está, Eisenberg?
— É, é ele.
— Deixa-me falar com ele.
— Olhe, Phil — disse Kramer. — O Bernie Fitzgibbon quer falar consigo.
Enquanto Bernie Fitzgibbon falava com Phil Eisenberg pelo telefone, Kramer contornou a mesa do escrivão para ir buscar os seus papéis do caso dos irmãos Terzio. Era incrível. A pobre viúva Lamb, a mulher de quem até Martin e Gold-berg tinha tanta pena, afinal era uma víbora! Onde é que haveria um jornal? Estava morto por deitar a mão a um. Deu por si ao lado do estenógrafo do tribunal, ou repórter do tribunal, que era o nome mais corrente daquela raça — o irlandês alto, Sullivan. Sullivan acabava de se levantar de diante da sua máquina de estenografia instalada mesmo abaixo da tribuna do juiz, e espreguiçava-se. Sullivan era um homem atraente, de cabelo cor de palha com quarenta e poucos anos, famoso, ou pelo menos apontado a dedo em Gibraltar pela elegância com que se vestia. Naquele momento trazia um casaco de tweed tão fofo e macio, tão cheio das tonalidades da urze das Highlands, que Kramer percebeu logo que nem daí a um milhão de anos poderia comprar um igual. De trás de Kramer veio um dos funcionários mais antigos, um tal Joe Hyman, que era o supervisor dos repórteres do tribunal. Aproximou-se de Sullivan e disse: — A seguir temos um homicídio nesta divisão. Todos os dias. O que é que me dizes?
Sullivan disse: — O quê? Ora bolas, Joe. Ainda agora despachei um homicídio. Para que é que quero outro já a seguir? Vou ter de fazer horas extraordinárias. E hoje, tenho bilhetes para o teatro, que me custaram trinta e cinco dólares cada um!
Hyman disse: — Está bem, está bem. Então e a violação? Tem de haver alguém para estenografar a violação.
— Ora gaita, Joe — disse Sullivan —, uma violação também dá horas extraordinárias de certeza. Porquê eu? Porque é que tenho sempre de ser eu? A Sheila Polsky já há um mês que não fica com um júri. Porque é que não lhe pedes
— Ela tem um problema nas costas. Não aguenta tanto tempo sentada.
— Um problema nas costas? — disse Sullivan. — Por amor de Deus, ela só tem vinte e oito anos. Cá para mim está a fazer fita; deve estar tão doente como eu.
— De qualquer maneira...
— Olha, temos de marcar uma reunião. Estou farto de ser sempre eu a apanhar com tudo. Temos de discutir a distribuição das tarefas e as folgas de cada um.
— Está bem — disse Hyman. — Então proponho-te o seguinte. Aceitas a violação e eu para a semana ponho-te todos os dias a fazer a ordem do dia, só de manhã. O.K.?
— Não sei — disse Sullivan. Franziu muito as sobrancelhas e o nariz, como se enfrentasse uma das decisões mais angustiantes de toda a sua vida. — Achas que vai haver relatórios diários de violação?
— Não sei. Provavelmente.
Relatórios diários. Agora Kramer sabia porque é que embirrava com Sullivan e com as suas roupas elegantes. Ao fim de catorze anos como repórter do tribunal, Sullivan alcançara o salário máximo dos funcionários públicos, 51000 dólares por ano — mais 14 500 do que Kramer ganhava — e isso era apenas a base. O que acontecia era que os repórteres vendiam as transcrições página a página, a um mínimo de 4,50 dólares por página. «Relatórios diários» significava que cada um dos advogados da defesa, o procura-dor-adjunto e o tribunal, ou seja o juiz, pedia transcrições da audiência do dia, uma sobrecarga de serviço que permitia a Sullivan ganhar um prémio de 6 dólares ou mais. Caso houvesse «réus múltiplos» — e nos casos de violação muitas vezes havia — o prémio podia ascender a 14 ou 15 dólares por página. Dizia-se que no ano anterior, no julgamento de um assassínio que envolvera um bando de traficantes de droga albaneses, Sullivan e outro repórter tinham dividido entre si 30000 dólares por duas semanas e meia de trabalho. Não custava nada àqueles figurões ganhar 75000 dólares por ano, mais 10000 do que um juiz e o dobro do que o próprio Kramer recebia. Um repórter do tribunal! Um autómato da máquina de estenografia. Um tipo que nem tem o direito de abrir a boca no tribunal, a não ser para pedir ao juiz ou a outra pessoa que repita uma palavra ou uma frase!
E ali estava ele, Larry Kramer, formado pela Colúmbia Law School, procurador-adjunto — a perguntar a si próprio se teria ou não dinheiro que chegasse para levar ajantar uma rapariga de bâton castanho num restaurante do Upper East Side!
— Hei, Kramer! — Era Eisenberg, o escrivão, que lhe estendia o telefone.
— Sim, Bernie?
— Já resolvi a coisa com o Eisenberg, Larry. Ele vai pôr os irmãos Terzio no fim da ordem do dia. Anda, vem para aqui. Temos de fazer alguma coisa quanto a este caso Lamb, porra!
— A maneira como estes americanos constróem os prédios camarários! Os elevadores só param de dois em dois andares — dizia Fallow — e cheiram a mijo. Sim, sim, os elevadores. Assim que uma pessoa entra... uma grande baforada bem intensa de mijo humano.
— Porquê de dois em dois andares? — pergunta Sir Gerald Steiner, devorando aquela história dos mais negros abismos da miséria. Junto dele estava o director do jornal, Brian Highridge, igualmente suspenso das suas palavras. No canto do cubículo continuava pendurada no cabide a gabardina velha de Fallow, e o cantil de vodka continuava escondido no bolso. Mas nessa manhã tinha a euforia, a atenção e os elogios dos outros para o ajudar a vencer a ressaca.
— Para poupar dinheiro na construção, calculo — disse. — Ou para lembrar àqueles pobres diabos que vivem do subsídio de desemprego. Está tudo muito bem para os que moram nos andares onde o elevador pára, mas a outra metade dos inquilinos tem de ir até ao andar acima e descer as escadas. Nos prédios camarários do Bronx parece que isso é um bocado arriscado. A mãe do rapaz, a tal Mrs. Lamb, disse-me que tinha perdido metade da mobília quando se mudou para lá. — A recordação trouxe um sorriso aos lábios de Fallow, o sorriso contrafeito que significa: é uma história triste, mas não se pode negar que tem a sua graça. — Fez subir a mobília no elevador até ao andar acima do dela. Depois tiveram de descer as escadas com um móvel de cada vez, e sempre que voltavam ao andar de cima viam que faltava mais alguma coisa. Parece que é uma tradição! Quando alguém se muda para um dos andares intermédios, os vizinhos roubam-lhe as coisas do patamar do elevador!
O Rato Morto e Highridge esforçavam-se por conter o riso, porque afinal de contas era da desgraça de muita gente que estavam a falar. O Rato Morto sentou-se na beira da secretária de Fallow, o que indicava que a história o divertia o suficiente para ele se dispor a demorar-se um bocado. A alma de Fallow alegrou-se. Quem tinha diante de si já não era... o Rato Morto... mas sim Sir Gerald Steiner, o arguto barão dojorna-hsmo britânico que o convocara para o Novo Mundo.
— Parece que o simples facto de descer as escadas já é uma experiência inesquecível — continuou. — Mrs. Lamb disse-me para eu não me servir delas em caso nenhum.
— Porquê? — perguntou Steiner.
— Disse que as escadas eram, por assim dizer, as ruelas e becos dos prédios camarários. Os apartamentos estão empilhados uns em cima dos outros naquelas grandes torres, percebem, e as torres estão dispostas mais ou menos assim — fez uma série de gestos com as mãos para descrever a disposição irregular —, no meio daquilo que supostamente seriam jardins. É claro que não sobreviveu nem um bocadinho de relva, mas seja como for não há ruas, nem becos, nem travessas, nem bares, nem nada entre os prédios, só aqueles espaços abertos e degradados. Os inquilinos não têm onde pecar. Portanto utilizam os patamares das escadas. Fazem... tudo... nos patamares das escadas.
Os olhos arregalados de Sir Gerald e do seu director foram mais fortes que Fallow. Despertaram no seu cérebro ímpetos irresistíveis de licença poética.
— Devo confessar que não resisti a ir dar uma olhadela. Decidi reconstituir o trajecto de Mrs. Lamb e do filho quando se tinham mudado para as Torres Edgar Allan Poe.
A verdade era que, depois do aviso, Fallow não se atrevera sequer a aproximar-se das escadas. Mas agora as mentiras, mentiras gráficas, multiplicavam-se-lhe no cérebro a um ritmo estonteante. Na sua viagem intrépida, escadas abaixo, tinha deparado com todos os vícios: indivíduos a fornicar, a fumar charros, a injectar-se com heroína, a jogar aos dados e à vermelhinha, e de novo a fornicar.
Steiner e Highridge ficaram a olhar para ele, de boca aberta e olhos arregalados.
— A sério? — disse Highridge. — E o que é que eles fizeram quando o viram?
— Nada, só se desviaram do caminho. No estado sublime a que tinham chegado, o que é que interessava a passagem de um simples jornalista?
— Caramba, isso é Hogarth — disse Steiner. — Tal e qual como Gin Lane. Só que é vertical.
Fallow e Highridge riram em coro, aprovando entusiasticamente a comparação.
— A Gin Lane Vertical — disse Highridge. — Olhe, Jerry, isso até era capaz de dar uma boa reportagem em duas partes. «A vida num bairro de lata subsidiado pelo Estado», ou coisa no género.
— Hogarth, sem tirar nem pôr — disse Steiner, deliciado com o seu novo papel de fazedor de frases. — Mas será que os Americanos estão minimamente familiarizados com Hogarth e a Gin Lane?
— Oh, não me parece que isso constitua problema — disse Highridge. — Lembra-se da história do Barba-Azul de Howard Beach? Tenho a certeza que eles não faziam a mínima ideia de quem era o Barba-Azul, mas isso explica-se muito bem num parágrafo, e eles ficam todos satisfeitos por aprenderem uma coisa nova. Aqui o Peter é que podia ser o nosso Hogarth.
Fallow começou a sentir-se um pouco alarmado.
— Pensando melhor — disse Steiner — é capaz de não ser muito boa ideia.
Fallow respirou de alívio.
— Porquê, Jerry? — perguntou Highridge. — Acho que a sua ideia é excelente.
— Oh, acho que o tema, em si, é importante. Mas é que as pessoas são muito sensíveis quando se trata destas coisas. Se fizéssemos uma reportagem acerca da vida num bairro camarário branco, não havia problema, mas acho que em Nova Iorque não há bairros camarários brancos. É um domínio muito delicado, e que ultimamente me tem dado algumas preocupações. Algumas organizações já resolveram desatar a fazer barulho, a acusar o City Light de ser antiminorias, para usar os termos deles. Ora bem, não há problema em se ser um jornal branco — haverá jornal mais branco do que o Times? O que não é muito agradável é ter essa reputação. Isso deixa as pessoas pouco à vontade, as pessoas influentes, incluindo, é claro, os anunciantes. Recebi no outro dia uma carta pavorosa de uma organização que se auto-intitula Liga Contra a Difamação do Terceiro Mundo. — Pronunciou muito devagar as palavras Difamação do Terceiro Mundo, como se se tratasse do nome mais ridículo do mundo. — Foi
a propósito de quê, a carta, Brian?
— Foi por causa dos Vândalos Risonhos — disse Highridge. — Na semana passada pusemos na primeira página uma fotografia de três rapazes negros numa esquadra de Polícia, a rir às gargalhadas. Tinham sido presos por destruírem os aparelhos de reabilitação física de uma escola para crianças deficientes. Regaram tudo com petróleo e deitaram-lhe um fósforo. Um encanto. A Polícia disse-nos que eles ainda se riam do caso depois de os terem prendido, por isso eu mandei um dos nossos fotógrafos, o Silverstein — um americano, um tipo com imensa lata — ir fotografar os rapazes a rir. — Encolheu os ombros, como se se tratasse de uma decisão de rotina em qualquer jornal.
— Os polícias foram muito prestáveis. Tiraram-nos da cela e trouxeram-nos à recepção para o nosso homem os
poder fotografar a rir; mas quando eles viram o Silverstein de máquina em punho pararam de rir. Então o Silverstein contou-lhes uma anedota porca. Uma anedota porca! — Highridge desatou a rir antes de conseguir chegar ao fim. — Era a história de uma judia que vai a África num safari e é raptada por um gorila, que a leva para cima de uma árvore e a viola; o gorila não a larga durante um mês, continua a violá-la noite e dia, até que ela consegue fugir e regressar aos Estados Unidos; está ela a contar a história à sua melhor amiga quando desata a chorar. A amiga diz-lhe «Pronto, pronto, já passou tudo». E a mulher responde-lhe: «Para ti é fácil dizer isso. Não sabes como eu me sinto. Ele não me escreve... não telefona...» Os três rapazes põem-se a rir, provavelmente desconcertados com esta piada péssima, o Silverstein tira-lhes a fotografia e nós publicamo-la. «Os Vândalos Risonhos.»
Steiner soltou uma gargalhada. — Oh, essa é muito boa! Não me devia estar a rir. Como é que disse que o tipo se chamava? Silverstein?
— Silverstein — disse Highridge. — Não é nada difícil reconhecê-lo. Anda sempre com a cara toda cheia de golpes. E põe papel higiénico nos golpes para estancar o sangue. Tem sempre bocadinhos de papel higiénico colados à cara.
— Golpes? Que tipo de golpes?
— De navalha de barbear. Parece que o pai lhe deixou uma navalha das antigas quando morreu. E o tipo insiste em servir-se dela. Nunca mais apanha o jeito. Todas as manhãs se corta. Felizmente para ele, sabe tirar fotografias.
Steiner sufocava de tanto rir. — Estes americanos! Meu Deus, adoro essa história. Contou-lhes uma anedota! Meu Deus, meu Deus... Gosto de tipos assim, com lata. Tome nota, Brian. Quero que lhe aumente o ordenado. Vinte e cinco dólares por semana. Mas, por amor de Deus, não lhe diga nem a ele nem a ninguém por que é que foi aumentado! Contou-lhes uma anedota! Violada por um gorila!
Eram tão genuínos o amor de Steiner ao jornalismo sensacionalista e o seu respeito pela «lata» que dava aos jornalistas a coragem de tentarem semelhantes acrobacias, que Fallow e Highridge não puderam deixar de rir com ele. O pequeno rosto de Steiner estava longe de parecer o focinho de um Rato Morto, naquele momento. A incrível audácia daquele fotógrafo americano, Silverstein, emprestava-lhe vida, até mesmo exuberância.
— Seja como for — disse Steiner, recobrando a compostura — temos esse problema.
— Acho que a coisa é perfeitamente justificável — disse Highridge. — Os polícias garantiram-nos que eles tinham estado a rir do assalto. Foi o advogado deles, um desses tipos da Assistência Jurídica, acho que é assim que se chama, que fez um bicho de sete cabeças, e provavelmente meteu no caso a tal Liga Contra a Difamação não-sei-de-quê.
— Infelizmente aqui não são os factos que contam — disse Steiner. — Temos de modificar certas opiniões, e acho que este caso de atropelamento e fuga é um bom começo. Vamos ver o que podemos fazer por esta família, a pobre família Lamb. Aliás, eles parecem já ter um certo apoio, desse tal Bacon.
— Os pobres Lambs (1) — disse Brian Highridge. — Sim. — Steiner ficou desconcertado; fora involuntariamente que fizera aquele trocadilho.
— Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, Peter — disse Steiner — a mãe, essa Mrs. Lamb, parece-lhe uma pessoa digna de crédito?
— Parece-me, sim — disse Fallow. — Tem muito boa presença, fala com correcção, é franca. Tem um emprego, parece ser uma pessoa ordenada... quer dizer, aqueles apartamentos são miseráveis, mas o dela é muito arrumado... quadros nas paredes... sofás com mesinhas ao lado, não sei se estão a ver... consolazinha no átrio da entrada...
— E o rapaz... as coisas não vão dar para o torto por esse lado, não? É mesmo um aluno brilhante, e tudo isso?
— Pelos padrões da escola onde anda, sim. Não sei como é que o avaliariam na Holland Park Comprehensive. — Fallow sorriu. A Holland Park Comprehensive era uma escola de Londres. — O rapaz nunca teve problemas com a Polícia. É uma coisa a tal ponto rara naqueles bairros que as pessoas esperam que fiquemos impressionados com um facto tão notável.
— O que é que os vizinhos dizem sobre ele?
— Oh... que é um rapaz simpático... bem educado, essas coisas — disse Fallow. A verdade era que Fallow tinha ido direito ao apartamento de Annie Lamb com Albert Vogel e um dos homens de Bacon, um tipo alto com um brinco de ouro numa orelha, e tinha-se ido embora logo depois de entrevistar Annie Lamb. Mas empolara tanto o seu estatuto de explorador intrépido dos abismos da miséria, versão Bronx, aos olhos do seu nobre patrão, que não queria bater já em retirada.
-
Trocadilho intraduzível. Lamb. como substantivo comum, significa «cordeiro». (N. do T.)
— Muito bem — disse Steiner. — E o que é que se
segue?
— O Reverendo Bacon... é assim que toda a gente lhe chama, Reverendo Bacon... O Reverendo Bacon organizou uma grande manifestação para amanhã. Vão protestar.
Nesse preciso instante o telefone de Fallow tocou.
— Está?
— Eiii!, Pete! — Era a voz inconfundível de Albert Vogel. — Já começam a acontecer mais coisas. Um miúdo telefonou agora mesmo a Bacon, um miúdo do Registo de Veículos Motorizados. — Fallow começou a tomar notas. — Esse miúdo leu o seu artigo e fez questão de meter os dados no computador lá do Registo; e diz que afinal são só 124 carros.
— Cento e vinte e quatro? Isso já é comportável para a Polícia?
— Perfeitamente comportável — basta eles quererem. Podem controlá-los em poucos dias, se quiserem pôr alguns homens a fazer esse serviço.
— Quem é esse... fulano? — Fallow abominava o costume americano de empregar a palavra kid, que no sentido próprio se referia apenas à raça caprina, com o sentido de «pessoa jovem.» (1)
— E um miúdo que trabalha lá no Registo, um miúdo que acha que os Lambs estão a ser tratados com a negligência do costume. Já lhe tinha dito: é por causa destas coisas que eu gosto do Bacon. Ele galvaniza as pessoas que querem desafiar a estrutura do Poder.
— Como é que eu posso entrar em contacto com esse... fulano?
Vogel deu-lhe todos os dados, e depois disse: — Ouça, Pete, dê-me só um segundo de atenção. Bacon acaba de ler a sua história, e disse-me que gostou muito. Todos os jornais e estações de televisão da cidade lhe telefonaram, mas ele guardou esta coisa do Registo de Veículos só para si, em exclusivo. O.K.? Mas você tem de ir para a frente. Tem de correr com a bola, ouviu? Percebe o que lhe estou a dizer?
— Percebo.
Depois de desligar, Fallow sorriu para Steiner e Highridge, que eram só olhos, abanou a cabeça com um ar entendido e disse: — Ssssssim... acho que estamos a avançar. A chamada era de um funcionário do Registo de Veículos Motorizados, onde têm as fichas de todos os automóveis.
(1) A palavra Kid. que no sentido próprio significa «cabrito», é, na linguagem corrente, o equivalente do português «miúdo» ou «puto». (N. do T.)
Era exactamente como ele tinha sonhado que seria. Tal e qual como ele tinha sonhado; até sentia medo de respirar, não fosse alguma coisa quebrar o encanto. Ela olhava-o nos olhos, e a distância que os separava era apenas a largura de uma mesa minúscula. Ela estava suspensa das suas palavras, atraída para o seu campo magnético, tão extasiada que ele tinha vontade de fazer deslizar as mãos pela mesa e enfiar as pontas dos dedos debaixo dos dedos dela — já! — e só tinham passado vinte minutos desde que se encontrara com ela! — tanta electricidade! Mas não devia precipitar as coisas, não podia destruir o maravilhoso equilíbrio daquele instante.
Como pano de fundo, os tijolos das paredes, os reflexos suaves do latão, as cataratas em relevo do vidro martelado, as vozes aeróbicas dos jovens elegantes. No primeiro plano, aquela farta cabeleira escura, o tom outonal daquelas faces — a verdade é que ele se apercebeu, mesmo no meio da magia toda, de que a tonalidade outonal se devia muito provavelmente à maquilhagem. Não havia dúvida que os arco-íris malva e púrpura das suas pálpebras superiores e das suas órbitas eram efeito da maquilhagem — mas tal era a natureza da perfeição contemporânea. Dos seus lábios, palpitantes de desejo, reluzentes de bâton castanho, saíram estas palavras:
— Mas você estava tão perto dele, praticamente a gritar com ele, e ele a olhá-lo com ar de quem o queria matar... quer dizer, não teve medo que ele desse um salto e... sei lá!... quer dizer, ele não tinha ar de ser lá muito boa pessoa!
— Oh — disse Kramer, ignorando o perigo de morte com um encolher de ombros e uma distensão dos seus poderosos esternocleidomastoideus. — Noventa por cento do ar feroz desses indivíduos é só teatro, embora não seja má ideia estar atento aos outros dez por cento. Hah, hah, pois é. O que me interessava era arranjar maneira de pôr em evidência o lado violento de Herbert, para que toda a gente o pudesse ver. O advogado dele, o Al Teskowitz... bom, não preciso de lhe dizer que não é o maior orador do mundo, mas isso... — uma pequena hesitação na terceira pessoa do singular do auxiliar do; era tempo de mudar de agulhas e começar a empregar a forma correcta — ... isso nem sempre é muito importante no julgamento de um crime. O direito criminal é uma coisa muito especial, porque o que está em jogo não é dinheiro mas sim a vida humana e a liberdade humana; e digo-lhe que isso desperta muitas emoções imprevisíveis, leskowitz, por muito estranho que lhe pareça, consegue ser genial quando se trata de lançar a confusão nos espíritos para
manipular um júri. Ele próprio tem um ar tão desamparado... tudo aquilo é premeditado, claro. Ele sabe muito bem como é que há-de despertar piedade pelo seu cliente. Metade daquilo é... como é que se diz?... expressão corporal, acho que se pode chamar-lhe assim. Talvez seja pura e simplesmente teatro, mas a verdade é que ele representa muito bem o seu papel, e eu não podia deixar aquela ideia de que o Herbert era um simpático pai de família... um pai de família!... ficar assim no ar, como um balão, percebe? Por isso pensei o seguinte...
As palavras jorravam, numa torrente — todos aqueles maravilhosos aspectos da sua coragem e talento de que ele não podia falar a ninguém. Não podia dizer nada disto a Jimmy Caughey, nem a Ray Andriutti, nem mesmo, ao contrário do que acontecia nos primeiros tempos, à sua mulher, que já só muito dificilmente se deixava impressionar com histórias de crimes. Mas aquela Miss Shelly Thomas... tenho que te alimentar a embriaguez! Ele engolia tudo. Aqueles olhos! Aqueles reluzentes lábios castanhos! Ela parecia ter uma sede insaciável das palavras dele, o que era uma boa coisa, porque no capítulo das bebidas não quisera senão água. Kramer pedira um copo de vinho branco da casa, que se esforçava por não engolir de um trago, porque já tinha percebido que o restaurante era mais caro do que pensara. Santo Deus! Tinha a cabeça a funcionar a cem à hora em dois registos ao mesmo tempo. Era como ouvir simultaneamente duas fitas gravadas. Numa delas, aquele discurso inflamado sobre a maneira como se comportara no julgamento...
— ... pelo canto do olho, vi que ele estava quase a atirar-se a mim. Foi uma coisa arriscada! Eu nem sequer sabia se ia conseguir chegar ao fim da minha alegação, mas estava disposto...
... e na segunda fita pensava nela, na conta (e ainda nem sequer tinham pedido o jantar), no sítio para onde a poderia levar depois (se!), e nos outros clientes do Muldownys. Meu Deus! Aquele não era John Rector, o apresentador do noticiário do Canal 9, numa mesa ali adiante, junto à parede de tijolo? Mas não! Não falaria disso. Só havia ali lugar para uma celebridade: ele próprio, vencedor do combate com o violento Herbert 92X e o arguto Al Teskowitz. Gente jovem, gente elegante — o restaurante estava cheio — perfeito — não podia ser melhor. Afinal Shelly Thomas era grega. Um certo sabor a desilusão. Ele queria... nem sabia bem o quê. Thomas era o nome do padrasto, que tinha uma fábrica de embalagens de plástico em Long Island City. O nome do pai dela era Choudras. Ela vivia em Riverdale com a mãe e o padrasto, trabalhava na Prisckker & Bolka, não tinha dinheiro para alugar um apartamento em Manhattan, embora esse fosse um grande desejo seu —já não se conseguia encontrar «um apartamentozinho simpático em Manhattan» (não precisava de lho dizer a ele)...
— ... o que acontece é que os júris no Bronx são muito imprevisíveis. Podia-lhe contar o que ainda hoje de manhã aconteceu a um dos meus colegas no tribunal!... Mas provavelmente você reparou nisto de que eu lhe estou a falar. Quer dizer, encontramos na bancada do júri pessoas que vêm... como é que hei-de dizer... cheias de ideias preconcebidas. Aparece muito o «nós contra eles», sendo eles a Polícia e os procuradores... mas provavelmente você teve ocasião de dar por isso.
— Não, olhe que não. Toda a gente se mostrou muito razoável, e com muita vontade de tomar a decisão mais acertada. Quando para lá fui não sabia o que é que me esperava, mas posso dizer que saí muito agradavelmente surpreendida.
Será que ela acha que eu tenho preconceitos? — Não, eu não quis dizer... há muito boa gente no Bronx, só que algumas pessoas já vêm de pé atrás e então acontecem coisas muito estranhas. — «Toca a sair deste terreno». — Já que estamos em maré de franqueza, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Sabe que eu pensei muito em si, enquanto jurada?
— Em mim? — Ela sorriu e pareceu corar intensamente debaixo da maquilhagem, corar de prazer por ter sido um factor de peso no pensamento estratégico de um membro do Supremo Tribunal do Bronx.
— Pois é! É verdade! Sabe, é que ao fim de umas dezenas de julgamentos como aquele aprende-se a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Poderá ser uma perspectiva deformada, mas as coisas são assim mesmo. Num caso daqueles, você era... bom, era demasiado inteligente, demasiado instruída, estava demasiado longe do mundo de um indivíduo como Herbert 92X, e por conseguinte — a ironia é essa — demasiado capaz de compreender os problemas dele; e como os franceses dizem, «compreender tudo é perdoar tudo.»
— Bom, a verdade...
— Não estou a dizer que seja justo ou correcto, mas é assim que uma pessoa acaba por ver as coisas nestes casos.
Não digo você — mas uma pessoa como você pode às vezes ser demasiado sensível.
— Mas não contestou a minha presença. É assim que se diz?
— É, é assim. Pois não, não o fiz, em primeiro lugar, porque não acho bem contestar um jurado só por ele... ela... ser inteligente e instruída. Quer dizer, deve ter reparado que não havia mais ninguém de Riverdale no seu júri. Nem sequer no grupo de onde vocês foram escolhidos, durante o voir dire, havia outras pessoas de Riverdale. Toda a gente passa a vida a queixar-se de que no Bronx nunca aparecem jurados com alguma instrução, e quando apanham algum... ora, é quase um desperdício, ou coisa parecida, contestar uma jurada só porque achamos que ela talvez seja sensível. Além disso... — Atrever-se-ia a fazer aquela tentativa? Atreveu-se. — ... além disso... para ser franco... eu queria-a naquele júri, pronto.
Olhou o mais intensamente que foi capaz aqueles grandes olhos orlados de um arco-íris cor de malva, compôs a sua melhor expressão de honestidade e franqueza e ergueu o queixo, para permitir a Shelly que admirasse todo o esplendor dos seus esternocleidomastoideus.
Ela baixou os olhos e tornou a corar sob as tonalidades artificiais do Outono no Berkshire. Depois ergueu os olhos e fitou-o intensamente.
— Pois é, eu por acaso reparei que você olhava muito para mim.
Eu e todos os outros funcionários do tribunal!— mas seria melhor não lhe revelar isso.
— Reparou? A minha esperança era que não tivesse sido assim tão óbvio. Meu Deus, espero que as outras pessoas não tenham reparado.
— Hah, hah! Acho que repararam. Sabe, aquela senhora que estava sentada ao meu lado, uma senhora negra? Era mesmo simpática. Trabalha para um ginecologista e é muito amorosa, muito inteligente. Eu até lhe pedi o número de telefone, e disse-lhe que havia de lhe telefonar. E sabe o que é que ela me disse?
— O quê?
— Disse: «Acho que aquele procurador tem um fraquinho por si, Shelly.» Ela começou logo a tratar-me por Shelly. Demo-nos muito bem. «Ele não consegue tirar os olhos de si.»
— Ela disse isso? — Os seus lábios entreabriram-se num sorriso.
— Disse!,
— E achou mal? Meu Deus do céu. Nunca pensei que fosse tão óbvio!
— Não, até achou graça. As mulheres gostam dessas coisas.
— Era assim tão óbvio, então?
— Para ela, foi!
Kramer abanou a cabeça, como se estivesse embaraçado, sem parar de derramar os seus olhos nos dela, enquanto derramava os seus nos dele. Já tinham saltado o fosso, sem grande dificuldade, aliás. Ele sabia — sabia! — que podia agora fazer deslizar as mãos pelo tampo da mesa e agarrar-lhe as pontas dos dedos que, ela deixaria, e tudo se passaria sem que os olhos de ambos se desfitassem, mas conteve-se. Tudo era tão perfeito e estava a correr tão bem que ele não queria correr o menor risco.
Continuou a abanar a cabeça e a sorrir... com um ar ainda mais comprometido... E era verdade que estava embaraçado, mas não pelo facto de outras pessoas terem reparado como ele parecia só ter olhos para ela na sala de audiências. Para onde é que haviam de ir — isso é que o embaraçava. Ela não tinha um apartamento seu, e é claro que não havia neste mundo nenhuma maneira de a poder levar para a sua colónia de formigas. Um hotel? — Seria demasiado óbvio, e além disso, onde é que ia arranjar o dinheiro? Mesmo num hotel de segunda categoria, um quarto custava quase cem dólares. E só Deus sabia quanto ia pagar por aquela refeição. O menu, escrito à mão, tinha um ar despretencioso que acendeu uma luzinha no sistema nervoso central de Kramer: dinheiro. Ele sabia, apesar da sua pouca experiência no assunto, que aquele ar falsamente descuidado significava dinheiro.
Foi então que a empregada voltou. — Já tiveram tempo de decidir?
Também ela era um artigo perfeito. Jovem, loura, de cabelo encaracolado, olhos azuis muito brilhantes, exactamente o tipo da aspirante a actriz, com covinhas nas faces e um sorriso que dizia: «Bom! Estou a ver que alguma coisa vocês decidiram!» Ou talvez dissesse: «Sou jovem, bonita e encantadora, e conto com uma bela gorjeta quando pagares a tua bela conta?»
Kramer olhou aquele rosto resplandecente, e depois olhou o de Miss Shelly Thomas. Consumia-o a consciência do seu desejo e da sua pobreza.
— Bom, Shelly — disse — já sabe o que é que vai querer?
Era a primeira vez que a tratava pelo primeiro nome.
Sherman estava sentado na borda de uma das duas cadeiras. Estava inclinado para a frente com as mãos entrelaçadas entre os joelhos e a cabeça baixa. O terrível, o acusador City Light, em cima da mesa de carvalho, era como um objecto radioactivo. Maria estava sentada na outra cadeira, mais senhora de si mas também longe da sua despreocupação habitual.
— Eu já sabia — dizia Sherman, sem olhar para ela — soube logo na altura. Devíamos ter participado imediatamente à Polícia. Não posso acreditar que estou... que estamos nesta situação.
— Pois, mas agora é tarde de mais, Sherman. Não há nada a fazer.
Ele endireitou-se na cadeira e olhou para ela. — Talvez não seja tarde de mais. O que podes dizer é que não sabias que tinhas atropelado uma pessoa até leres hoje o jornal.
— Pois, pois — disse Maria. — E como é que eu ia dizer que se tinha passado essa coisa que eu nem sabia que se tinha passado?
— Ora... contavas o que realmente aconteceu.
— Havia de fazer imenso sucesso. Dois rapazes obrigaram-nos a parar e tentaram assaltar-nos, mas tu atiraste com um pneu a um deles,e eu arranquei dali como... como uma desvairada, mas não reparei que tinha atropelado uma pessoa.
— Bom, foi exactamente isso que aconteceu, Maria.
— Mas quem é que ia acreditar? Tu leste esse artigo. Já chamam ao rapaz «aluno brilhante» e sei lá mais o quê, parece que é algum santo. Não dizem nada sobre o outro. Nem sequer falam da rampa da via rápida. Só falam de um santinho que foi à rua buscar comida para a família.
A terrível possibilidade deparou-se-lhe uma vez mais. E se os dois rapazes quisessem mesmo só ajudar?
E ali estava Maria, com uma camisola de gola alta que punha em evidência, mesmo naquele momento, os seus próprios seios perfeitos. Vestia ainda uma saia curta, aos quadrados; tinha cruzadas as pernas reluzentes e um dos sapatos a balouçar na ponta do pé.
Atrás dela estava a cama improvisada e acima da cama via-se agora mais um pequeno quadro a óleo, uma mulher nua com um animal ao colo. As pinceladas eram tão atrozmente grosseiras que Sherman não conseguiu perceber que animal seria. Tanto podia ser um cão como uma ratazana. Sentia-se tão infeliz que ficou alguns instantes a observar o quadro.
— Ah, desta vez reparaste — disse Maria, esboçando um sorriso. — Estás a fazer progressos. Foi o Filippo que mo deu.
— Óptimo, óptimo. — A questão de saber porque é que um artistazeco qualquer se mostrava tão generoso com Maria já não tinha para Sherman o menor interesse. O mundo ficara, de repente, mais pequeno. — Então o que é que achas que devemos fazer?
— Acho que devemos respirar fundo dez vezes e descontrair-nos. É o que eu acho.
— E depois disso?
— E depois, se calhar, mais nada. — Aquele sotaque! — Sherman, se lhes contamos a verdade eles matam-nos. Percebes? Cortam-nos aos bocadinhos. Neste momento eles não sabem de quem era o carro, não sabem quem ia a guiar, não têm testemunhas, o rapaz está em coma e aparentemente... não vai recuperar.
Tu ias a guiar, pensou Sherman. Não te esqueças dessa parte. Era um alívio ouvi-la dizer que tinha sido ela. E depois, um sobressalto de medo: e se ela negasse e dissesse que quem ia a guiar era ele? Mas o outro rapaz sabia, estivesse ele onde estivesse.
No entanto, disse apenas: — Então e o outro rapaz? Imagina que ele aparece.
— Se era para aparecer, a estas horas já devia ter aparecido. Não, não vai aparecer porque é um delinquente.
Sherman tornou a inclinar-se para a frente e a curvar a cabeça. Deu por si a olhar fixamente as biqueiras brilhantes dos seus sapatos de passeio New & Lingwood. A vaidade colossal dos seus sapatos ingleses feitos por medida fez-lhe náuseas. De que serve a um homem... Não se conseguia lembrar da citação. Via a triste lua castanha no alto do crânio de Felix... Knoxville... Porque é que não se mudara para Knoxville, muitos anos atrás?... uma simples casa georgiana com um pórtico numa das fachadas...
— Não sei, Maria — disse, sem erguer os olhos. — Parece-me que não nos podemos pôr a adivinhar o que se vai passar ou não. Acho que se calhar devíamos entrar em contacto com um advogado — dois advogados, corrigiu-o uma vozinha no fundo da sua cabeça, porque eu não conheço esta mulher e nada me garante que fiquemos sempre do mesmo lado — e... pôr na mesa aquilo que sabemos.
— E enfiar a cabeça na boca do lobo, é o que tu queres dizer. — Outra vez aquele sotaque. O sulismo de Maria começava a bulir com os nervos de Sherman. — Era eu que ia a guiar o carro, Sherman, por isso parece-me que sou eu quem deve decidir.
Era eu que ia a guiar o carro! Ela mesma o dissera. Sherman ficou um pouco mais animado. — Não estou a tentar convencer-te a fazeres o que não queres — disse. — Estou só a pensar em voz alta.
A expressão de Maria suavizou-se. Sorriu-lhe com um ar caloroso, quase maternal. — Sherman, deixa-me dizer-te uma coisa. Há dois tipos de selvas. A Wall Street é uma selva. Já ouviste dizer isso, não ouviste? Tu sabes governar-te nessa selva. — A brisa do sul fustigava as orelhas de Sherman... mas aquilo era verdade, não era? Começou a sentir-se um pouco melhor. — E depois há a outra selva. A selva em que nos perdemos há dias, no Bronx. E tu lutaste, Sherman! Foste maravilhoso! — Ele teve de se conter para não se felicitar a si próprio com um sorriso. — Mas tu não vives nessa selva, Sherman, nem nunca viveste. Sabes o que é que há nessa selva? Pessoas que passam a vida a atravessar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, a fronteira entre o legal e o ilegal. Tu não sabes o que isso é. Tu foste bem educado. Para ti, as leis não são uma ameaça. São as tuas leis, Sherman, as leis das pessoas como tu e a tua família. Mas eu não fui criada assim. Nós andávamos sempre na corda bamba, do lado da lei para o outro lado, a cambalear como bêbados, por isso eu sei do que estou a falar e não tenho medo. E deixa-me dizer-te outra coisa. Nessa fronteira, cada pessoa é um animal — os polícias, os juizes, os criminosos, toda a gente.
Continuava a sorrir-lhe com ternura, como uma mãe que tivesse revelado ao filho uma grande verdade. Ele perguntou a si próprio se ela saberia mesmo do que estava a falar ou se estaria apenas a fazer um pequeno número sentimental de snobismo às avessas. — E o que é que concluis daí? — perguntou.
— Que acho que devias confiar nos meus instintos. Nesse momento bateram à porta.
— Quem é? — disse Sherman, alarmado.
— Não te preocupes — disse Maria. — É a Germaine. Eu disse-lhe que estavas cá. — Levantou-se para ir abrir a porta.
— Não lhe contaste o que aconteceu...
— Claro que não.
Abriu a porta. Mas não era a Germaine. Era um homem enorme, com uma estranhíssima farpela preta. Entrou pelo apartamento como se estivesse em casa, lançou um olhar rápido à sua volta, a Sherman, às paredes, ao tecto, ao soalho, e finalmente a Maria.
— A senhora é Germaine Boll — arfava, aparentemente por ter subido as escadas a correr — ou Bowl?
Maria não disse nada. Sherman também não. O gigante era jovem, branco, com uma grande barba preta ondulada, um carão vermelho, quase apoplético, reluzente de suor, um chapéu de feltro preto de aba muito direita, um chapéu preto demasiado pequeno, que parecia um brinquedo lá no alto da sua grande cabeça, uma camisa branca amarrotada abotoada até ao colarinho, mas sem gravata, e um casaco preto assertoado, já lustroso, a abotoar para a esquerda, como um casaco de mulher. Um judeu hassídico. Sherman já tinha visto muitas vezes judeus hassídicos no Bairro dos Diamantes, que fica nas Ruas 46 e 47, entre a Quinta e a Sexta Avenidas, mas nunca um assim tão gigantesco. Devia ter uns seis pés e cinco polegadas de altura, e pesava com certeza mais de 250 libras; era, portanto, bastante gordo, embora bem constituído, e parecia inchado sob a pele lívida, como um pedaço de bratwurst. Tirou o chapéu. O suor colava-lhe o cabelo ao crânio. Deu uma pancada com a palma da mão na sua grande cabeça, como para a devolver à sua forma primitiva. Depois tornou a pôr o chapéu na cabeça. Estava equilibrado tão lá em cima que parecia prestes a cair a qualquer momento. Gotas de suor escorriam pela testa do gigante.
— Germaine Boll? Bowl? Buli?
— Não, não sou — disse Maria. Já se recompusera. Respondeu com um ar petulante, passando ao ataque. — Ela não está cá. O que é que o senhor quer?
— A senhora vive aqui? — Para o seu tamanho, o homem tinha uma voz estranhamente aflautada.
— Miss Boll não está cá neste momento — disse Maria, ignorando a pergunta.
— Quem é que vive aqui, ela ou a senhora?
— Ouça, nós estamos ocupados. — Num tom de paciência exagerada: — Porque é que não tenta mais tarde? — Em tom de desafio: — Como é que entrou no prédio?
O gigante enfiou a mão no bolso do lado direito do casaco, de onde tirou um enorme chaveiro. Eram dúzias e dúzias de chaves, ou pelo menos assim parecia. O homem percorreu o círculo das chaves com o seu grande e gordo indicador, deteve-se numa delas e ergueu-a delicadamente com o indicador e o polegar.
— Com isto. Imobiliária Winter. — O homem tinha um ligeiro sotaque yiddish.
— Bom, mas vai ter de voltar mais tarde para falar com Miss Boll.
— O gigante não se moveu. Tornou a examinar o apartamento. — A senhora não vive aqui?
— Ouça lá...
— Está bem, está bem. Vamos ter de pintar isto tudo. — Ao dizer isto o gigante abriu os dois braços, como se fossem asas; dir-se-ia que se preparava para dar um mergulho de cisne, mas afinal aproximou-se de uma parede e pôs-se de frente para ela. Depois apoiou a mão esquerda na parede, deu uns passos para o lado, levantou a mão esquerda, pôs a mão direita no sítio onde tivera a outra e continuou a avançar para a esquerda até estar de novo na posição de mergulho do cisne.
Maria olhou para Sherman. Ele sabia que tinha de fazer alguma coisa, mas não via bem o quê. Aproximou-se do gigante. No tom mais gelado e ríspido de que foi capaz, tal como o Leão da Dunning Sponget o teria feito, disse: — Espere lá. O que é que o senhor está a fazer?
— Estou a tirar medidas — disse o gigante, continuando a avançar, de asas abertas, rente à parede. — Temos que pintar isto.
— Bom, lamento muito, mas agora não temos tempo para isso. Vai ter de tirar as suas medidas noutra altura.
Aquele jovem enorme virou-se lentamente e pôs as mãos nas ancas. Inspirou fundo, o que o fez parecer ainda mais inchado; dir-se-ia que pesava aí umas quinhentas libras. A expressão do seu rosto era a de alguém que se vê obrigado a dar cabo de um insecto. Sherman teve a impressão vertiginosa de que aquele monstro não só estava habituado a semelhantes confrontos como os apreciava. Mas a luta dos machos já começara, e não havia maneira de lhe fugir.
— O senhor vive aqui?
— O que eu disse foi que não temos tempo para isto — disse Sherman, tentando manter o tom friamente autoritário do Leão. — Agora queira fazer o favor de sair e voltar noutra altura para tratar desse assunto.
— O senhor vive aqui?
— Na realidade, não vivo aqui, mas sou um convidado desta senhora, e não...
— O senhor não vive aqui e ela também não vive aqui. O que é que estão aqui a fazer?
— Isso não é da sua conta! — disse Sherman, incapaz de controlar a sua raiva mas sentindo-se mais impotente a cada segundo que passava. Apontou para a porta: — Agora faça o favor de sair!
— O senhor não tem nada que aqui estar. O.K.? Isto é um problema sério. Temos, a viver neste prédio, pessoas que não deviam cá estar. Isto é um prédio de renda condicionada, e as pessoas saem de cá e alugam os apartamentos a outras pessoas por mil ou dois mil dólares por mês. A renda deste apartamento é só de 331 dólares por mês. Percebe? Germaine Boll... mas nunca ninguém a vê aqui! Quanto é que vocês lhe pagam?
Que insolência! A luta dos machos! O que é que ele podia fazer? Na maior parte das situações Sherman sentia que era um homem forte, corpulento. Mas ao lado daquela criatura monstruosa... Não lhe podia tocar. Não podia intimidá-lo. A autoridade fria do Leão não surtia o menor efeito. E por baixo de tudo aquilo, os próprios alicerces estavam minados. Ele encontrava-se moralmente em desvantagem. Não tinha nada que estar ali — e tinha imensa coisa a esconder. E se aquele monstro inconcebível não fosse da Companhia Imobiliária Winter? Se...
Felizmente, Maria resolveu intervir. — Acontece que Miss Boll vai aqui estar dentro de muito pouco tempo. Entretanto...
— O.K.! Óptimo. Vou esperar por ela.
O gigante atravessou a sala como um druida gingão. Parou junto à mesa de carvalho e, com o maior à-vontade assentou o seu corpanzil enorme numa das cadeiras.
— Ouça lá — disse Maria — não acha que está a passar das marcas?
A resposta do gigante foi cruzar os braços, fechar os olhos e reclinar-se na cadeira, como quem se instala para ficar. Nesse instante Sherman percebeu que ia mesmo ter de fazer alguma coisa, qualquer coisa, se não queria ver-se despojado de toda a sua virilidade. A luta dos machos! Começou a aproximar-se do homem.
Craaaaaccccc! E, de repente, o monstro estava no chão, de costas, e a aba rígida do chapéu preto rodopiava loucamente no tapete. Uma das pernas da cadeira estava quase rachada em duas, junto ao assento, revelando a madeira ciara por baixo do verniz escuro. A cadeira cedera sob o seu peso.
Maria gritava. — Veja só o que fez, seu pica-pau! Seu javardo! Seu monte de banha!
Arfando e soprando, o gigante lá se conseguiu endireitar e acabou por se tornar a pôr de pé. Perdera, entretanto, sua pose insolente. Tinha a cara vermelha, e estava de novo encharcado em suor. Inclinou-se para apanhar o chapéu e, ao fazê-lo, quase perdeu o equilíbrio.
Maria continuou ao ataque. Apontou para o que restava da cadeira. — Espero que saiba que vai ter de pagar isto!
— Não me diga — respondeu o gigante. — A cadeira também não era sua! — Mas começou a bater em retirada. As censuras de Maria, somadas ao seu próprio embaraço, eram de mais para ele.
— Isto vai-lhe custar quinhentos dólares e... e um processo! — disse Maria. — Julga que é só entrar por aqui dentro e desatar a partir a mobília?
O gigante deteve-se junto da porta e fitou-a, de sobrolho carregado, mas aquilo tinha sido de mais para ele. Saiu, gingando o corpo, com um ar confuso.
Assim que o ouviu descer as escadas, Maria fechou a porta e deu a volta à chave. Depois virou-se, olhou para Sherman e soltou uma sonora gargalhada.
— Viste... o... tipo... no... meio... do... chão? — Ria tanto que mal conseguiu pronunciar estas palavras.
Sherman ficou a olhar para ela. Era verdade... ela tinha razão. Ele e Maria eram animais de espécies diferentes. Ela tinha estômago para aguentar... o que lhes estava a acontecer, fosse lá o que fosse. Ela lutava — e gostava de lutar! A vida era uma luta, como ela própria dissera — mas que mal tinha isso? Sherman queria rir. Queria partilhar a sua alegria animal ante a cena ridícula que acabavam de presenciar. Mas não conseguia. Não conseguiu esboçar sequer um sorriso. Sentia que a sua posição de isolamento no mundo o abalava profundamente. Aquela gente... aqueles indivíduos incríveis... podiam agora entrar pela sua vida dentro.
— Craaaaaassssh! — dizia Maria, chorando a rir. — Oh, meu Deus, só queria ter um vídeo com aquela queda! — Depois apercebeu-se da expressão do rosto de Sherman. — O que foi?
— Porque é que tu achas que foi isto tudo?
— «Isto tudo» como?
— O que é que achas que ele veio aqui fazer?
— Foi o senhorio que o mandou. Lembras-te da carta que eu te mostrei?
— Mas não te parece um bocado estranho que...
— Germaine só paga 331 dólares por mês, e eu pago-lhe 750. Isto é um apartamento de renda condicionada. Os tipos adoravam pô-la daqui para fora.
— Mas não te parece estranho que eles tenham decidido entrar por aqui dentro... precisamente hoje?
— Precisamente hoje?
— Bom, talvez eu seja doido, mas logo hoje... depois de esta coisa ter saído no jornal?
— No jornal? — Então ela compreendeu o que ele estava a dizer, e sorriu. — Sherman, és mesmo doido. És paranóico. Sabias?
— Talvez seja. É só que me parece uma coincidência muito estranha.
— Quem é que achas que mandou o tipo, se não foi o senhorio? A Polícia?
— Bom... — Percebendo que a ideia era realmente paranóica, teve um sorriso contrafeito.
— Então a Polícia ia mandar este atrasado mental enorme, este monte de banha judeu, para te espiar?
Sherman deixou descair para o peito o seu nobre queixo de Yale. — Tens razão.
Maria deu dois passos, levantou-lhe o queixo com o indicador, olhou-o nos olhos e mostrou-lhe o sorriso mais terno que ele alguma vez vira no rosto de uma mulher.
— Sherman — Shahman. — O mundo não está parado a pensar em ti. Não anda o mundo inteiro a querer apanhar-te. Só eu é que ando.
Segurou-lhe o rosto com ambas as mãos e beijou-o. Acabaram os dois na cama, mas desta vez com um certo esforço da parte dele. Aquilo não era a mesma coisa quando se estava meio morto de medo.
12 - O Último dos Grandes Fumadores
Depois de um sono inquieto, Sherman chegou à Pierce & Pierce às oito da manhã. Estava exausto, e o dia ainda não começara. A sala de compra e venda de obrigações surgia ante os seus olhos como uma alucinação. A luz tristonha, do lado do porto... as silhuetas contorcidas... os números verdes, fluorescentes, a deslizarem nos écrans de um número infinito de terminais... os jovens Senhores do Universo, alheados de tudo, a berrar para os seus doughnuts eléctricos:
— Pago dois!
— Está bem, mas o que é que acontece quando houver outra emissão?
— Menos dois pontos!
— Isso é conversa! Não se pode voltar atrás numa coisa dessas!
Até mesmo Rawlie, o pobre e desalentado Rawlie, estava a postos, com o telefone colado ao ouvido, movendo os lábios a cem à hora, tamborilando com um lápis no tampo da secretária. O jovem Arguello, senhor dos pampas, estava reclinado na cadeira com as pernas afastadas, o telefone no ouvido, os suspensórios de moiré a rebrilhar, e um largo sorriso no seu rosto de jovem gigolô. Fizera uma jogada de mestre, na véspera, com a venda das obrigações do Tesouro aos japoneses. Toda a sala comentava o assunto. Sorrindo, sorrindo, sorrindo, sorrindo, o brilhantinas saboreava placi-damente o seu triunfo.
Sherman sentia uma enorme vontade de irão Yale Club tomar um banho de vapor, deitar-se numa daquelas mesas forradas de couro para lhe fazerem uma boa massagem e depois ir dormir.
Na sua secretária tinha um recado, com a menção «urgente», para telefonar a Bernard Levy. era Paris.
Quatro terminais de computador mais adiante, Felix engraxava o sapato direito de um menino-prodígio desen-gonçado e detestável chamado Ahlstrom, saído de Wharton havia apenas dois anos. Ahlstrom estava ao telefone. Blá, blá, blá, blá, não é verdade, Mr. Ahlstrom? Felix — o City Light. A esta hora já devia estar nas bancas. Queria ver o jornal, e tinha um medo terrível de o ver.
Quase sem ter a consciência do que fazia, Sherman encostou o auscultador do telefone ao ouvido e marcou o número da Traderem Paris. Inclinou-se para a secretária e apoiou-se nos dois cotovelos. Assim que Felix despachasse o jovem e enérgico Ahlstrom, Sherman chamá-lo-ia. Só uma parte do seu espírito estava a ouvir quando o doughnut francês, Bernard Levy, disse:
— Sherman, depois da nossa conversa de ontem estive a falar com Nova Iorque, e toda a gente achou que você tem razão. Não vale a pena esperar.
Graças a Deus.
— Mas — continuou Bernard — não podemos chegar aos noventa e seis.
— Não podem chegar aos noventa e seis?
Ouvia aquelas terríveis palavras... e no entanto não se conseguia concentrar... Os jornais da manhã, o Times, o Post, o News, traziam reformulações do artigo do City Light, acrescidas de novas declarações do tal indivíduo negro, o Reverendo Bacon. Denúncias ferozes do hospital onde o rapaz continuava em coma. Por um momento, Sherman ganhara ânimo. Era para o hospital que deitavam as culpas todas! Depois compreendeu que não era assim, que ele apenas queria que assim fosse. Haviam de deitar as culpas... Era ela que ia a guiar. Se acabassem por os descobrir, se tudo o mais falhasse, era ela que ia a guiar. Agarrou-se àquela ideia.
— Não, noventa e seis está fora de causa — disse Bernard. — Mas estamos prontos a comprar por noventa e três.
— Noventa e três?
Sherman endireitou-se na cadeira. Não podia ser verdade. Com certeza, no segundo seguinte, Bernard ia-lhe dizer que se enganara. Diria, na pior das hipóteses, noventa e cinco. Sherman tinha pago noventa e quatro! Se vendesse por noventa e três, a Pierce & Pierce perderia seis milhões de dólares.
— Não pode ter dito noventa e três!
— Noventa e três, Sherman. Parece-nos que é um preço bastante justo. Seja como for, é a nossa oferta.
— Meu Deus do céu... Deixe-me pensar um segundo. Ouça, eu já lhe torno a telefonar. Vai estar aí?
— Claro que sim.
— Muito bem. Eu torno-lhe a telefonar.
Desligou e esfregou os olhos. Santo Deus! Devia haver uma maneira de resolver aquilo. Tinha-se deixado enervar na conversa da véspera com Bernard. Erro fatal! Bernard detectara o pânico na sua voz e recusara. Vê se animas! Recompõe-te! Concentra-te neste assunto! Não podes agora deixar ir tudo por água abaixo. Torna a telefonar-lhe e sê a pessoa que costumas ser, o vendedor número um da Pierce & Pierce! — Senhor do... Perdeu o alento. Quanto mais se incitava a avançar, mais nervoso se sentia. Olhou para o relógio. Olhou para Felix. Felix afastava-se nesse preciso instante dos sapatos do menino-prodígio, Ahlstrom. Fez-lhe sinal. Tirou a carteira do bolso das calças, tornou a sentar-se, entalou-a entre os joelhos para a esconder, puxou uma nota de cinco dólares e meteu-a num envelope da firma, e pôs-se de pé ao ver aproximar-se Felix.
— Felix, estão aí cinco dólares. Vá lá abaixo buscar-me um City Light, está bem? O troco é para si.
Felix olhou para ele com um sorrisinho irónico e disse: — Bom, está bem, mas olhe que da última vez ainda fiquei um bom bocado à espera na banca dos jornais, e o elevador nunca mais vinha, e perdi uma data de tempo. Sempre são cinquenta andares. Demora-se muito tempo. — E não saiu do sítio.
Era inconcebível! O homem achava que cinco dólares, para ir buscar um jornal de trinta e cinco cêntimos, não compensavam a sua margem de lucro de engraxador! E tinha o descaramento de o olhar de alto a baixo — ahhhhhhh... era isso. Uma espécie de radar caseiro dizia-lhe que se Sherman escondia o jornal num envelope, era porque aquilo era contrabando. Era uma coisa ilícita. Era desespero, e as pessoas desesperadas pagam bem.
Mal conseguindo controlar a sua fúria, Sherman revolveu o bolso em busca de mais uma nota de cinco dólares e estendeu-a ao homem, que a agarrou, lançando-lhe um olhar entastiado, e saiu da sala com o envelope.
Tornou a marcar o número de Paris.
— Bernard?
— Sim?
— Sherman. Ainda estou a trabalhar no assunto. Dê-me mais uns quinze ou vinte minutos.
Uma pausa. — Está bem.
Sherman desligou e olhou para a grande janela atrás das suas costas. As silhuetas agitavam-se e sobressaltavam-se, numa louca confusão. Se ele se dispusesse a subir até aos noventa e cinco... Poucos segundos depois, o negro tornou a aparecer. Estendeu-lhe o envelope sem uma palavra, e com uma expressão perfeitamente neutra.
O jornal avolumara o envelope. Era como se houvesse lá dentro uma coisa viva. Pô-lo debaixo da secretária, onde ficou a pulsar e a agitar-se.
Se abdicasse de uma parte dos seus lucros... Começou a rabiscar números numa folha de papel. Mas quando olhava para a folha — aquilo não fazia sentido! Não se ligava a coisa nenhuma! Ouvia o som da sua própria respiração. Agarrou no envelope e encaminhou-se para a casa de banho.
Dentro do cubículo, dando à tampa da sanita a honra do contacto com as calças do seu fato de dois mil dólares da Savile Row, com os seus sapatos New & Lingwood colados à base de porcelana, Sherman abriu o envelope, de onde tirou o jornal. Cada estalido das folhas o denunciava. A primeira página... ESCÂNDALO EM CHINATOWN: ELEITORES-FANTASMAS... sem interesse... Abriu o jornal... Página 2... Página 3... a fotografia do dono de um restaurante chinês... Vinha no fim da página:
ATROPELAMENTO E FUGA NO BRONX: - DADOS SECRETOS DE COMPUTADOR
E, acima do título, em letras brancas mais pequenas sobre uma barra preta: Mais uma Bomba no Caso Lamb. Abaixo do título, noutra barra preta, lia-se: Um Exclusivo do CITY LIGHT. O artigo era do mesmo Peter Fallow:
Declarando: «Estou farto de os ver arrastar os pés», uma fonte da Divisão de Veículos Motorizados revelou ontem ao City Light que dados de computador permitem reduzir a 124 o número dos veículos que podem ter estado envolvidos no atropelamento e fuga da semana passada que teve por vítima o jovem e promissor aluno de um liceu do Bronx, Henry Lamb.
A nossa fonte, que já teve ocasião de colaborar com a Polícia noutros casos do mesmo tipo, disse-nos: «Eles podem controlar 124 veículos em dois ou três dias. Basta que decidam pôr um número suficiente de homens a trabalhar no caso. Quando a vítima mora num bairro social, nem sempre se dispõem a isso.»
Lamb, que vive com a mãe viúva nas Torres Edgar Allan Poe, um bairro camarário do Bronx, continua mergulhado num coma permanente irreversível. Antes de perder a consciência, pôde ainda indicar à mãe a primeira letra —— e cinco possibilidades para a segunda letra — E, F, B, R,— da matrícula do luxuoso Mercedes-Benz que o atropelou no Bruckner Boulevard e seguiu a toda a velocidade.
A Polícia e a Procuradoria do Bronx objectaram que há quase 500 automóveis Mercedes-Benz registados no Estado de Nova Iorque com matrículas começadas por aquelas letras, um número demasiado elevado para justificar um controlo veículo a veículo num caso em que a única testemunha conhecida, o próprio Lamb, pode não vir nunca a recobrar a consciência.
Mas a fonte da Divisão de Veículos Motorizados disse ao City Light: «É verdade que são 500 as possibilidades, mas só 124 são prováveis. O Bruckner Boulevard, onde este jovem foi atropelado, não é propriamente uma atracção turística. E evidente que o proprietário do veículo reside em Nova Iorque ou em Westchester. Partindo desta suposição — e já tenho visto a Polícia partir de hipóteses deste tipo noutros casos — só ficam 124.»
Esta revelação levou o líder negro, Rev. Bacon a reiterar a sua exigência de investigações sistemáticas neste caso.
«Se a Polícia e o procurador não tratarem do caso, tratamos nós», disse. «A estrutura do Poder permite que se destrua a vida deste jovem brilhante, e o assunto ainda a faz bocejar. Mas nós não vamos tolerar semelhante coisa. Agora temos os dados do computador, e se for preciso havemos de descobrir nós próprios esse carro.»
O coração de Sherman sobressaltou-se.
Segundo nos confiaram, o bairro do Sul do Bronx onde Lamb vive está «em polvorosa» e «vibrante de cólera» pelo modo como os ferimentos do jovem foram tratados e pela alegada relutância das autoridades em trabalhar no caso.
Um porta-voz da Administração dos Serviços de
Saúde e dos Hospitais disse que fora entretanto aberto um «inquérito interno». A Polícia e o gabinete do procurador do Bronx, Abe Weiss, declararam que «as investigações continuam em curso». Tanto a Polícia como a Procuradoria se recusaram a comentar esta redução do número de veículos em causa, mas uma porta-voz da Divisão de Veículos Motorizados, Ruth Berkowitz, referindo-se ao material obtido pelo City Light, comentou:
«A divulgação não-autorizada de dados relativos.. aos proprietários dos veículos num caso tão delicado como este é uma infracção muito séria e muito irresponsável à política do nosso departamento.»
E era tudo. Sherman deixou-se ficar sentado na sanita, olhando fixamente para a mancha impressa. O laço começava a apertar-se! Ora, a Polícia não ia prestar atenção àquilo... Pois, mas se aquele... aquele Bacon... e um grupo de negros coléricos e em polvorosa começassem a controlar os carros, um a um... Tentou imaginar a cena... mas não conseguiu, era uma coisa demasiado violenta... Ergueu os olhos para a porta bege acinzentado do cubículo... Ouviu chiar as dobradiças da porta da casa de banho... Depois abriu-se outra porta alguns cubículos mais adiante. Muito devagar, Sherman fechou o jornal, dobrou-o e tornou a enfiá-lo no envelope. Levantou-se da sanita o mais devagar que pôde; abriu a porta do cubículo o mais silenciosamente que pôde; saiu o mais furtivamente que pôde da casa de banho, com o coração aos pulos.
De regresso à sala de compra e venda de obrigações, pegou no telefone. Tinha que falar com Bernard. Tinha que falar com Maria. Tentou compor uma expressão atarefada. Era muito mal visto fazer chamadas pessoais da sala das obrigações da Pierce & Pierce. Marcou o número do apartamento de Maria na Quinta Avenida. Atendeu uma mulher com sotaque espanhol. Mrs. Ruskin não estava em casa. Telefonou para o esconderijo, marcando os números com grande determinação. Ninguém atendeu. Reclinou-se na cadeira. Fixou os olhos num ponto distante... a luz, as silhuetas agitadas, o ruído...
Um estalar de dedos acima da sua cabeça... Olhou para cima. Era Rawlie quem assim fazia estalar os dedos.
— Acorda. Aqui não é permitido pensar.
— Eu estava só... — Não se deu ao trabalho de concluir, porque Rawlie já se tinha afastado.
Debruçou-se sobre a secretária e olhou para os números verdes fluorescentes que desfilavam nos écrans.
E, sem mais nem menos, decidiu ir falar com Freddy Button.
O que é que havia de dizer a Muriel, a assistente de vendas? Dizia-lhe que se ia encontrar com Mel Troutman, da Polsek & Fragner, por causa da emissão Medicart Fleet... Sim, era isso que lhe ia dizer... e a ideia causou-lhe náuseas. Uma das máximas do Leão era: «Uma mentira pode enganar os outros, mas a ti próprio diz a verdade: és um fraco.»
Não se lembrava do número de telefone de Freddy Button. Já não lhe telefonava há muito tempo. Procurou o número na agenda.
— Daqui Sherman McCoy. Queria falar com Mr. Button.
— Lamento muito, Mr. McCoy, mas neste momento ele está com um cliente. Quer que ele lhe telefone mais tarde?
Sherman ficou alguns instantes calado. — Diga-lhe que é urgente.
A secretária hesitou. — Só um momento.
Sherman estava debruçado sobre a secretária. Baixou os olhos e viu os seus pés... o envelope com o jornal... Não! E se ela chamasse Freddy pelo intercomunicador, e outro advogado, conhecido do seu pai, a ouvisse dizer aquilo... «Sherman McCoy, urgente»...
— Desculpe! Espere um segundo! Não vale a pena... está lá? — Estava quase a gritar ao telefone. Mas a secretária não respondeu.
Cravou de novo os olhos no envelope. Rabiscou alguns números numa folha de papel, para parecer activo e concentrado no seu trabalho. E o que ouviu a seguir foi a voz sempre branda, sempre nasalada, de Freddy Button.
— Sherman? Está bom? O que é que se passa?
Ao sair, Sherman disse a Muriel a sua mentira e sentiu-se reles, sórdido e fraco.
Tal como muitas outras antigas e conservadoras famílias protestantes de Manhattan, os McCoys sempre haviam
feito questão de que só outros protestantes se ocupassem dos seus assuntos privados e dos seus corpos. Actualmente, isso exigia um certo esforço. Os dentistas e contabilistas protestantes eram criaturas raras, e não era fácil encontrar médicos protestantes.
Os advogados protestantes, contudo, eram ainda numerosos, pelo menos na Wall Street, e Sherman tornara-se cliente de Freddy Button da mesma maneira que entrara em criança para os Knickerbocker Greys, o corpo de cadetes dos rapazes mais pequenos. O pai tratara de tudo. Quando Sherman andava no último ano de Yale, o Leão achou que era tempo de ele fazer testamento, um dos actos normais e prudentes que marcavam a chegada à idade adulta. Passou-o, portanto, a Freddy, que era então um jovem e recente sócio da Dunning Sponget. Sherman nunca tivera que se preocupar em saber se Freddy era ou não um bom advogado. Se recorrera a ele, fora para que tudo na sua vida estivesse em ordem: o testamento, reformulado quando do seu casamento com Judy e quando Campbell nascera, os contratos de compra do apartamento da Park Avenue e da casa de Southamp-ton. A compra do apartamento fizera Sherman pensar duas vezes. Freddy sabia que ele tinha pedido um empréstimo de 1,8 milhões de dólares para o comprar, e ele não queria que o seu pai (tecnicamente sócio de Freddy) soubesse disso. Freddy guardara o segredo. Mas num caso obsceno daqueles, com os jornais a fazerem tanto barulho, haveria algum motivo — algum regulamento — algum costume da firma — alguma coisa que fizesse chegar o assunto aos ouvidos dos outros sócios — e do velho Leão?
A Dunning Sponget & Leach ocupava quatro andares de um arranha-céus da Wall Street, a três quarteirões de distância da Pierce & Pierce. No momento da sua construção representara o último grito do estilo moderno dos anos 20, mas agora tinha o ar soturno e encardido que era tão típico dos edifícios da Wall Street. A sede da Dunning Sponget assemelhava-se à da Pierce & Pierce. Em ambos os casos, interiores modernos tinham sido forrados de madeiras apaineladas inglesas do século XVIII e atafulhados de mobiliário inglês do mesmo século. Mas isso não incomodava Sherman. Para ele, tudo na Dunning Sponget era tão venerável como o seu pai.
Para seu grande alívio, a recepcionista não o reconheceu a ele nem ao seu nome. Era evidente que o Leão não era agora mais do que um dos velhos sócios encarquilhados que vinham duas ou três horas por dia infestar os corredores da firma. Sherman acabava de se sentar numa poltrona quando apareceu a secretária de Freddy Button, Miss Zilitsky. Era uma dessas mulheres que aparentam uns cinquenta anos e têm um ar leal e dedicado. Conduziu-o por um corredor silencioso.
Freddy, alto, esbelto, elegante, encantador, com o eterno cigarro nos lábios, esperava-o à porta do gabinete.
— O-lá, Sherman! — Um penacho de fumo de cigarro, um sorriso magnífico, um aperto de mão caloroso, outros tantos e agradáveis marcas de prazer ao avistar Sherman McCoy. — Pois muito bem, como é que você está? Sente-se. Quer um café? Miss Zilitsky!
— Não, obrigado. Para mim não.
— E a Judy, como está?
— Está bem, obrigado.
— E a Campbell? — Ele lembrava-se sempre do nome de Campbell, o que Sherman muito apreciava, mesmo no seu estado actual.
— Oh, está óptima.
— Agora anda no Taliaferro, não é?
— Anda. Como é que sabe? O meu pai falou-lhe nisso?
— Não, foi a minha filha, a Sally. Acabou há dois anos o liceu lá no colégio. Adorou lá andar, portanto continua a par de tudo. Agora está na Brown.
— E dá-se bem na Brown? — Meu Deus do céu, porque é que eu fui perguntar semelhante coisa? Mas Sherman sabia porque era. A torrente caudalosa, rápida, fútil da conversa de Freddy arrastava quem o ouvia. Desarmada, uma pessoa dava por si a dizer as coisas do costume.
Foi um erro. Freddy pôs-se logo a contar uma anedota sobre a Brown e os dormitórios mistos. Sherman não se deu ao trabalho de ouvir. Para tornar mais explícito o que dizia, Freddy ergueu as suas longas mãos num gesto lânguido e efeminado. Estava sempre a falar de famílias, a minha família, a tua família, as famílias dos outros, e era homossexual. Não havia dúvida. Freddy devia ter uns cinquenta anos, media pelo menos seis pés e quatro polegadas, era magro, um pouco desengonçado mas elegantemente vestido, no estilo «drapeado» inglês. Usava o cabelo louro e liso, agora quase submerso por uma maré cheia de cabelos grisalhos, penteado para trás, à maneira dos anos 30. Instalou-se languidamente na sua cadeira, diante de Sherman, do outro lado da secretária, sem parar de falar nem de fumar. Puxou uma longa fumaça do cigarro, deixou que o fumo lhe saísse da boca e aspirou-o pelo nariz, em duas colunas espessas. Era o que noutros tempos se chamava inalar à francesa, termo que Freddy Button, o último dos Grandes Fumadores, continuava a usar. Fez círculos de fumo. Inalou à francesa e fez grandes círculos de fumo; e depois soprou pequenos círculos mais rápidos, fazendo-os passar pelo meio dos grandes. De vez em quando segurava o cigarro, não entre os dois primeiros dedos mas entre o polegar e o indicador, na vertical, como se fosse uma vela. Porque seria que os homossexuais fumavam tanto? Talvez por desejo de autodestruição. Mas a palavra autodestruição era o limite máximo da familiaridade de Sherman com o pensamento psicanalítico, por isso começou a passear os olhos pela sala. O gabinete de Freddy era manifestamente decorado, como os apartamentos de Judy. Parecia saído de uma dessas revistas abomináveis... veludo borgonha, couro avermelhado, madeiras nodosas, bibelots de prata e de latão... De repente, Freddy, o seu encanto e o seu bom gosto tornaram-se coisas extremamente enervantes. Freddy deve ter sentido a sua irritação, porque interrompeu a história que estava a contar e disse: — Bom... você disse que tinha tido um problema com o carro.
— Infelizmente, até pode ler a história toda, Freddy. — Sherman abriu a pasta, de onde tirou o envelope da Pierce & Pierce; tirou do envelope o exemplar do City Light, abriu-o na página 3, dobrou-o e estendeu-o a Freddy por cima da secretária. — O artigo no fim da página.
Freddy agarrou o jornal com a mão esquerda, e com a direita apagou o cigarro num cinzeiro Lalique com uma cabeça de leão esculpida na borda. Levou a mão a um lenço de seda branca que transbordava negligentemente, voluptuosamente, do bolso do peito do casaco, de onde tirou um par de óculos de aros de tartaruga. Depois pousou o jornal e pôs os óculos com ambas as mãos. De um bolso interior tirou uma cigarreira de prata e marfim, abriu-a e extraiu um cigarro de debaixo de uma presilha de prata. Bateu com o cigarro no lado de fora da cigarreira, acendeu-o com um isqueiro comprido, canelado, também de prata; depois pegou no jornal e começou a ler, ou melhor, aler e a fumar. Com os olhos fixos no jornal, levava o cigarro aos lábios na posição de vela, entre o polegar e o indicador, inspirava profundamente, rodava os dedos e — pimba! — o cigarro aparecia entre as articulações do indicador e do dedo médio. Sherman estava maravilhado. Como é que ele fazia aquilo? Depois ficou furioso. Armado em acrobata do tabaco — no meio da minha crise?
Freddy acabou o artigo, poisou com grande cuidado o cigarro no cinzeiro Lalique, tirou os óculos, tornou a arrumá-los atrás do lustroso lenço de seda, tornou a pegar no cigarro e puxou uma grande fumaça.
Sherman, quase cuspindo as palavras: — Isso que leu é sobre o meu carro.
A cólera que transparecia na sua voz surpreendeu Freddy. Cautelosamente, como que em bicos de pés, disse: — Você tem um Mercedes de matrícula começada por R?— qualquer coisa?
— Exactamente. — Martelando bem as sílabas.
E Freddy, perplexo: — Bom... porque é que não me conta o que aconteceu?
Só quando Freddy disse aquelas palavras é que Sherman percebeu que... estava morto por o fazer! Estava morto por confessar a alguém! A qualquer pessoa! Até mesmo a este malabarista da nicotina, a este janota homossexual que era sócio do pai dele! Nunca antes olhara Freddy com tanta lucidez. Via-o, agora. Freddy era o tipo de indivíduo elegante e cheio de encanto a quem uma firma da dimensão da Dun-ning Sponget passava todas as viúvas e herdeiros, como ele próprio, de quem se supunha que teriam mais dinheiro que problemas. No entanto, era ele o único confessor disponível.
— Tenho uma amiga chamada Maria Ruskin — disse. — É casada com um homem chamado Arthur Ruskin, que ganhou uma data de dinheiro a fazer sabe Deus o quê.
— Já ouvi falar dele — disse Freddy, acenando com a cabeça.
— Eu tenho... — Sherman calou-se. Não sabia muito bem como havia de formular aquilo. — Tenho-me encontrado algumas vezes com Mrs. Ruskin. — Franziu os lábios e olhou fixamente para Freddy. A mensagem muda era: «Sim; exactamente; é a história sórdida do costume, a aventura reles que está a imaginar.»
Freddy acenou com a cabeça.
Sherman tornou a hesitar, depois mergulhou nos pormenores do passeio de automóvel no Bronx. Examinou o rosto de Freddy em busca de indícios de desaprovação ou, pior ainda, de gozo. Não detectou senão uma preocupação amigável pontuada por círculos de fumo. Sherman já não estava irritado com ele. Que alívio! Pode deitar cá para fora o horrível veneno! O meu confessor!
Ao contar a sua história, apercebeu-se de que sentia ainda outra coisa: uma alegria irracional. Era a personagem Principal de uma aventura excitante. Encheu-se uma vez mais de orgulho — um orgulho estúpido! — por ter combatido na selva e triunfado. Estava no palco. Era a estrela! A expressão de Freddy passara de preocupada e amigável... a fascinada...
— E aqui estou — concluiu Sherman. — Não sei o que hei-de fazer. Só queria ter ido logo à Polícia, quando aquilo aconteceu.
Freddy recostou-se na cadeira, desviou os olhos e puxou uma fumaça do cigarro, depois tornou a fitar Sherman e sorriu-lhe, como que para o tranquilizar.
— Bom, pelo que me contou você não é responsável pelas lesões do rapaz. — Enquanto falava, o fumo inalado saía-lhe da boca em pequenos jactos. Sherman já não via ninguém fazer aquilo há anos. — Pode ser que como proprietário do veículo tenha alguma obrigação de dar parte do sucedido, e talvez levante problemas o facto de ter abandonado o local do acidente. Tenho que ver melhor no código. Acho que seria possível acusarem-no de agressão, por ter atirado o pneu, mas não me parece que conseguissem alguma coisa com isso, porque é evidente que você tinha motivos para julgar que a sua vida estava em perigo. A verdade é que estes casos não são tão raros como você possa pensar. Sabe quem é Clinton Danforth?
— Não.
— É o presidente do conselho de administração da Danço. Representei-o num processo contra o A.A. A. Aliás, acho que a entidade era o Automóvel Clube de Nova Iorque. Ele e a mulher... você nunca o viu?
Se eu nunca o vi? — Não, nunca.
— É todo como deve ser. Parece um daqueles capitalistas das caricaturas, com cartola de seda e tudo. Bom, mas uma noite Clinton e a mulher iam a caminho de casa... — E pôs-se a contar como o carro do seu ilustre cliente se tinha avariado no Ozone Park, em Queens. Sherman peneirou as palavras em busca de uma pequena pepita de esperança. Depois compreendeu que aquilo era apenas, e uma vez mais, o reflexo de sedução de Freddy a funcionar. A essência do sedutor social consistia em ter para cada assunto uma história, de preferência com alguns nomes sonantes. Num quarto de século de advocacia, Freddy não devia ter tido mais nenhum caso além daquele que se relacionasse, de perto ou de longe, com as ruas de Nova Iorque.
— ... um negro com um cão-polícia pela trela...
— Freddy. — Sherman, de novo a martelar bem as sílabas. — Não me interessa o seu ilustre amigo Danforth.
— Como? — Freddy, perplexo e chocado.
— Não tenho tempo para isso. Tenho um problema para resolver.
— Oh, ouça... Desculpe. A sério. — Freddy falou brandamente, quase a medo; e também tristemente, como se se dirigisse a um louco prestes a enfurecer-se. — Olhe que estava só a tentar mostrar-lhe...
— Deixe lá isso para depois. Apague o cigarro e diga-me o que pensa.
Sem tirar os olhos do rosto de Sherman, Freddy apagou o cigarro no cinzeiro Lalique. — Está bem, vou-lhe dizer exactamente o que penso.
— Não quis ser brusco, Freddy, mas por amor de Deus!
— Bem sei, Sherman.
— Faça o favor de fumar se lhe apetecer, mas não se desvie do assunto.
As mãos ergueram-se para indicar que não tinha importância fumar ou não fumar.
— Muito bem — disse Freddy — é assim que eu vejo as coisas: acho que você não tem responsabilidade na parte mais importante da questão, que são os ferimentos do rapaz. É possível que corra o risco de ser acusado de abandonar o local do acidente e de não ter avisado a Polícia. Como lhe disse, vou certificar-me desse ponto. Mas penso que o caso nunca poderá ser muito sério, desde que possamos provar que a sequência dos acontecimentos foi a que você me apresentou.
— «Provar» como?
— Bom, o que me preocupa nesta versão do jornal é que é completamente diferente daquilo que você me contou.
— Oh, bem sei! — disse Sherman. — Não falam no outro... no outro tipo, o que me abordou. Não dizem uma palavra sobre a barricada ou mesmo sobre a rampa. Dizem que o acidente foi no Bruckner Boulevard, mas não foi no Bruckner Boulevard nem em nenhuma outra avenida. Quem ler a notícia julga que o rapaz... esse aluno distinto... este santo negro... ia a atravessar a rua muito sossegadinho quando apareceu um branco racista num «automóvel de luxo» que o atropelou e continuou o seu caminho. É uma autêntica loucura! Só falam de «automóvel de luxo», quando afinal é um simples Mercedes. Meu Deus, ter hoje um Mercedes é como ter um Buick aqui há uns anos.
O arquear de sobrancelhas de Freddy significava: «Não é bem a mesma coisa». Mas Sherman apressou-se a continuar.
— Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, Freddy. O facto de... — Ia a dizer «Maria Ruskin» mas não quis parecer ansioso por se livrar das culpas no caso —... de não ser eu que ia a guiar quando o rapaz foi atropelado iliba-me legalmente de toda a responsabilidade?
— No que toca aos ferimentos do rapaz, parece-me que sim. De qualquer maneira, gostava de verificar no código. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Qual é a versão dos acontecimentos da sua amiga Mrs. Ruskin?
— A versão dela?
— Sim. Segundo ela, como é que o indivíduo foi atropelado? Ela diz que ia a guiar?
— Se ela diz que ia a guiar? Ela ia a guiar!
— Sim, mas vamos supor que ela se defronta com a possibilidade de ter de responder em tribunal se disser que ia a guiar.
Sherman ficou calado por um momento. — Bom, não consigo imaginar que ela fosse... — Mentir era a palavra que ele ia dizer, mas não disse, porque, na verdade, a coisa não era impossível de imaginar. A ideia chocou-o. — Bom... a única coisa que lhe posso dizer é que de todas as vezes que falámos no assunto ela disse sempre o mesmo. Usou sempre a expressão: «Afinal de contas, era eu quem ia a guiar.» Quando eu lhe sugeri que fôssemos à Polícia, logo a seguir ao acidente, foi isso que ela disse. «Era eu quem ia a guiar. Por isso cabe-me a mim decidir.» Quer dizer, acho que tudo pode acontecer, mas... meu Deus do céu.
— Não estou a tentar semear a dúvida, Sherman. Só queria fazê-lo perceber que provavelmente é ela a única pessoa que pode corroborar a sua versão dos acontecimentos... o que implica, para ela, correr um certo risco.
Sherman afundou-se na cadeira. A guerreira voluptuosa que combatera a seu lado na selva e depois, coberta de suor, fizera amor com ele no meio do chão...
— Então se eu for agora à Polícia — disse — e contar o que aconteceu, e ela não confirmar a minha versão, ainda fico pior do que estou.
— É uma possibilidade. Ouça, eu não estou a sugerir que ela não vai confirmar o que você disser. Só quero que saiba... em que pé é que as coisas estão.
— O que é que me aconselha a fazer, Freddy?
— A quem é que já falou deste assunto?
— A ninguém. Só a si.
— E à Judy?
— Não. A ela ainda menos que a qualquer outra pessoa, se quer saber a verdade.
— Bom, nos tempos mais próximos não deve falar disto com ninguém, provavelmente nem sequer com a Judy, a menos que seja indispensável. E se lhe contar a história, tem que lhe fazer sentir a necessidade de guardar um silêncio absoluto sobre o assunto. Ficaria espantado se soubesse a maneira como as coisas que uma pessoa diz podem ser viradas contra ela se houver quem o queira fazer. Já vi acontecer coisas dessas demasiadas vezes.
Sherman duvidou que fosse verdade, mas limitou-se a fazer sinal que sim com a cabeça.
— Entretanto, se me der autorização, vou discutir a situação com outro advogado meu conhecido, uma pessoa que está mais dentro destes assuntos.
— Não é ninguém aqui da Dunning Sponget...
— Não.
— É que eu não gostava nada que esta história andasse a circular aqui pela firma, que diabo!
— Não se preocupe, ele trabalha numa firma completa-mente diferente.
— Que firma é?
— Chama-se Dershkin, Bellavita, Fishbein & Schlossel. A torrente de sílabas era como um cheiro desagradável.
— Que género de firma é?
— Oh, tratam de todo o tipo de casos, mas são conhecidos principalmente pelo seu trabalho no domínio do direito criminal.
— Direito criminal?
Freddy esboçou um sorriso. — Não se preocupe. Os advogados criminais não ajudam só os criminosos. Já trabalhámos várias vezes com este indivíduo. Chama-se Thomas Killian. É um advogado brilhante, mais ou menos da sua idade. Aliás, também andou em Yale — quer dizer, na Faculdade de Direito. É o único irlandês que alguma vez se formou na Yale Law School, e é o único licenciado da Yale Law School que alguma vez se dedicou ao direito criminal. Estou a exagerar, claro.
Sherman tornou a afundar-se na cadeira e tentou digerir o termo direito criminal. Vendo que era de novo o advogado, que estava outra vez na mó de cima, Freddy pegou na cigarreira de prata e marfim, tirou de debaixo da presilha de prata um cigarro Sénior Service, com que bateu na tampa da cigarreira, para logo o acender e inalar o fumo com profunda satisfação.
— Quero ver o que é que ele acha — disse Freddy — principalmente porque, a ajuizar por este artigo de jornal, o caso está a ganhar conotações políticas. Tommy Killian pode orientar-nos nesse domínio muito melhor do que eu.
— Dershkin, Qualquer Coisa e Schloffel?
— Dershkin, Bellavita, Fishbein & Schlossel — disse Freddy. — Três judeus e um italiano, e Tommy Killian é irlandês. Deixe-me explicar-lhe uma coisa, Sherman. A advocacia tende a ser cada vez mais especializada em Nova Iorque. É como se houvesse uma série de pequenos... clãs... de bandos... Vou-lhe dar um exemplo. Se eu fosse processado com uma acusação de condução negligente, não queria ser representado por ninguém da Dunning Sponget. Ia a um desses advogados da zona da Broadway que não tratam de outra coisa. São o que há de mais reles no ofício das leis. São todos Bellavitas e Schlossels. São grosseiros, brutos, miseráveis, repelentes — você nem faz ideia de como eles são. Mas era lá que eu ia. Eles conhecem os juizes todos, os escrivães todos, os outros advogados todos — sabem como hão-de fazer os acordos. Se lá aparecesse alguém chamado Bradshaw ou Farnsworth, vindo da Dunning Sponget & Leach, obrigavam-no a encerrar a loja. Sabotavam-lhe o trabalho. Com o direito criminal acontece a mesma coisa. Os advogados criminais não estão exactamente en bout de train; mas em certos casos temos de recorrer a eles. E, para esta situação, Tommy Killian é uma excelente escolha.
— Meu Deus do céu — disse Sherman. De tudo o que Freddy dissera, só as palavras direito criminal tinham ficado gravadas no seu espírito.
— Não fique com esse ar desanimado, Sherman! Direito criminal.
Quando regressou à sala de compra e venda de obrigações da Pierce & Pierce, a assistente de vendas lançou-lhe um olhar severo.
— Onde é que esteve, Sherman? Fartei-me de tentar entrar em contacto consigo.
— Estive... — Ia repetir a mentira, com alguns retoques, mas a expressão do rosto dela disse-lhe que só pioraria as coisas. — Bom, o que é que se passa?
— Foi lançada uma emissão logo a seguir a você ter saído, 200 milhões de Fidelity Mutuais. Por isso eu telefonei para a Polsek & Fragner, mas você não estava lá, e disseram-me que nem sequer o esperavam hoje. O Arnold não está nada satisfeito, Sherman. Diz que quer falar consigo.
-Já vou ter com ele. — Virou as costas e começou a encaminhar-se para a sua secretária.
-Só um segundo — disse Muriel. — Também tentou
contactar consigo um indivíduo de Paris. Telefonou quatro vezes. Um tal Mr. Levy. Disse que você tinha ficado de lhe falar. Pediu-me para lhe dizer que os noventa e três são definitivos. Disse que era a última palavra, e que você sabia o que ele queria dizer.
13 - A Enguia Eléctrica
Kramer e os dois detectives, Martin e Goldberg, chegaram às Torres Edgar Allan Poe num Dodge sem qualquer sinal distintivo por volta das 4 e 15. A manifestação estava marcada para as cinco. O bairro social fora concebido na era da Relva Verde, da eliminação dos bairros de lata. A ideia fora construir torres de apartamentos no meio de um grande relvado onde os mais jovens pudessem correr e saltar e os mais velhos sentar-se à sombra das árvores, à beira dos caminhos sinuosos. A verdade era que, nos seus saltos e correrias, os jovens tinham partido, cortado ou arrancado, logo no primeiro mês, as arvorezinhas que viriam um dia a dar sombra; se houvesse algum velho suficientemente tolo para se sentar à beira dos caminhos sinuosos, arriscava-se a receber o mesmo tratamento. O bairro era agora uma grande floresta de torres de tijolo encardido no meio de uma placa de cinzas e terra calcada. Desaparecidas há muito as ripas verdes de madeira, os suportes de cimento dos bancos pareciam ruínas de outras eras. O vaivém da cidade, ligado às marés do trabalho humano, não se fazia sentir nas Torres Edgar Allan Poe, onde o desemprego atingia pelo menos 75 por cento dos moradores. O bairro não era mais animado às 4 e 15 do que ao meio-dia. Kramer não via vivalma, além de um pequeno bando de adolescentes do sexo masculino que passaram a correr diante dos graffiti na base dos edifícios. Os próprios
graffiti pareciam desanimados. Os tijolos encardidos, entremeados por regos de cimento, até aqueles jovens estoira-vergas conseguiam deprimir.
Martin abrandou e prosseguiu a passo de caracol. Estavam no maior dos antigos relvados, diante da Torre A, para onde fora convocada a manifestação. A zona estava deserta, com a excepção de um adolescente esgalgado que se encontrava no meio da rua a reparar a roda de um automóvel. O automóvel, um Camaro vermelho, estava mal estacionado, com a dianteira encostada ao passeio central e a traseira no meio da rua, obstruindo a passagem. O rapaz vestia jeans pretos, uma T-shirt preta e ténis às riscas. Estava acocorado e tinha as mãos numa chave-inglesa.
Martin parou o carro a uns dez pés de distância do rapaz e desligou o motor. O outro, ainda de cócoras, ficou a olhar para o Dodge. Martin e Goldberg deixaram-se ficar nos seus lugares, olhando fixamente em frente. Kramer no banco de trás. Martin e Goldberg deixaram-se ficar nos seus lugares olhando fixamente em frente. Kramer não percebia o que estavam ali a fazer. Então Martin saiu do carro. Vestia um blusão castanho, uma camisola polo e um par de calças cinzentas de má qualidade. Aproximou-se do rapaz, parou junto dele e disse: — O que é que estás aí a fazer? — A maneira como o disse não podia propriamente ser qualificada de simpática.
Surpreendido, o rapaz disse: — Nada. Estou a apertar uma porca.
— A apertar uma porca? — perguntou Martin, num tom prenhe de insinuações.
— Pois, a apertar uma porca...
— E estacionas sempre assim, no meio da merda da rua? O rapaz pôs-se de pé. Tinha bastante mais de seis pés de
altura. Os seus braços eram longos e musculosos, bem como as suas mãos, numa das quais segurava a chave inglesa. De boca aberta, baixou os olhos para Martin, que de repente pareceu um anão. Os ombros magros de Martin pareciam inexistentes debaixo do blusão. Não trazia distintivo nem qualquer outra insígnia da Polícia. Kramer não queria acreditar no que via. Estavam ali, no sul do Bronx, a trinta minutos de uma manifestação de protesto contra as falhas da Justiça Branca, e Martin resolvia atirar a luva a um jovem negro com o dobro do seu tamanho e uma chave-inglesa na mão.
Martin inclinou a cabeça para o lado e fitou o rosto incrédulo do rapaz sem pestanejar sequer. Aparentemente, o rapaz também achou aquilo extremamente estranho, porque não se mexeu nem disse palavra. Lançou uma olhadela ao Dodge e deu por si a fitar a cara grande e carnuda de Goldberg, com as suas fendas em lugar de olhos e o seu bigode preto descaído. Depois tornou a olhar para Martin e arvorou uma expressão corajosa e zangada.
— Estou só a apertar uma porca, meu. Não é nada contigo.
Antes de chegar à palavra contigo já ele se estava a afastar de Martin num passo fingidamente descontraído. Abriu a porta do Camaro, atirou a chave-inglesa para o banco de trás, contornou o carro com o mesmo ar despreocupado, para chegar ao lado do condutor, entrou, ligou o motor, fez a manobra para sair do parque de estacionamento e foi-se embora. O escape do Camaro soltou um ronco sonoro. Marty regressou ao Dodge e instalou-se ao volante.
— Vou recomendar-te para uma menção honrosa no departamento das relações entre comunidades, Marty — disse Goldberg.
— O miúdo teve foi sorte de eu não lhe pedir os papéis — disse Martin. — Além disso, este é o único lugar das redondezas onde podemos parar o carro.
E ainda perguntam porque é que a gente do ghetto o odeia, pensou Kramer. Mas ao mesmo tempo estava maravilhado... maravilhado! Ele, Kramer, era suficientemente grande e forte para lutar com o rapaz da chave-inglesa, e era concebível que o vencesse. Mas teria tido que o fazer. Se resolvesse enfrentar o rapaz, teria chegado imediatamente ao estádio da luta corpo a corpo. Mas Martin sabia desde o início que não precisaria de lutar. Sabia que alguma coisa nos seus olhos faria o rapaz pressentir o Polícia Irlandês Que Não Recua. É claro que também ajudava ter ali ao lado aquele Goldberg com cara de Assassino Implacável, e não era nada mau usar um 38 debaixo do casaco. No entanto, Kramer sabia que não teria conseguido fazer o que aquele descarado campeão peso-pluma da raça dos polícias irlandeses tinha feito; e, pela milésima vez na sua carreira de procurador-adjunto no Bronx, prestou uma homenagem silenciosa a esse mais misterioso e cobiçado dos atributos masculinos, a virilidade irlandesa.
Martin estacionou o Dodge no lugar que o rapaz deixara vago, e os três deixaram-se ficar sentados à espera.
— Mas que grande palhaçada — disse Martin.
- OiÇa lá, Marty — disse Kramer, orgulhoso de tratar pelo primeiro nome aquele modelo de virtudes — vocês sempre conseguiram descobrir quem é que entregou os dados de computador ao City Light?
Sem se voltar, Martin disse: — Foi um dos da irmandade — numa versão irlandesa do sotaque negro. Virou ligeiramente a cabeça e fez um trejeito com os lábios para indicar que já esperava uma coisa daquelas e que não havia nada a fazer.
— E vocês vão controlar os 124 carros, ou lá quantos é que são?
— Vamos. O Weiss passou o dia inteiro a chatear o comandante.
— Quanto tempo é que vão demorar?
— Três ou quatro dias. Ele destacou seis homens para isso. É uma perfeita palhaçada.
Goldberg virou-se para trás e disse a Kramer: — O que é que deu ao Weiss? Ele acredita nestas tretas que lê no jornal?
— Olá se acredita! — disse Kramer. — E tudo o que meta problemas raciais põe-no fora de si. Como já vos disse, ele quer ser reeleito.
— Pois sim, mas o que é que o faz pensar que vamos encontrar testemunhas nesta manifestação que não passa de uma palhaçada!
— Não sei. Mas foi o que ele disse ao Bernie. Goldberg abanou a cabeça. — Nem sequer sabemos onde é que foi a merda do acidente. Já pensou nisso? O Marty e eu andámos de um lado para o outro no Bruckner Boulevard, e diabos me levem se conseguimos descobrir onde é que a coisa aconteceu. Mais uma coisa que o miúdo se esqueceu de dizer à mãe quando inventou a porcaria da matrícula: onde é que teve o raio do acidente.
— A propósito — disse Kramer — como é que um miúdo do bairro social Poe reconheceu logo um Mercedes?
— Oh, eles isso sabem — disse Martin, sem virar a cabeça. — Os chulos e os vigaristas só andam de Mercedes.
— Pois é — confirmou Goldberg. — Agora já não ligam aos Cadillacs. E os miúdos andam todos por aí com essas coisas ao pescoço, esses distintivos metálicos dos Mercedes, sabe?
— Se um miúdo daqui inventar uma história que meta um carro — disse Martin — a primeira marca que lhe vem à cabeça é Mercedes. O Bernie sabe disso.
— Pois é, mas o Weiss também passa o tempo a chatear o Bernie — disse Kramer. Tornou a olhar à sua volta. A calma que reinava no bairro era quase sinistra. — Tem a certeza que não se enganou no sítio, Marty? Não está cá ninguém.
— Não se preocupe — disse Martin. — Eles já aparecem. Não vamos perder a palhaçada, esteja descansado.
Pouco tempo depois apareceu uma carrinha de passageiros, cor de bronze, que parou na mesma rua que eles, um pouco mais adiante. Saíram uns doze homens. Todos eram negros. A maioria vestia camisas de trabalho azuis e jardineiras. Aparentavam ter vinte e tal ou trinta e tal anos. Um deles chamava especialmente a atenção pela sua grande estatura. Tinha um perfil anguloso e uma grande maçã de Adão, e usava um brinco numa orelha. Disse qualquer coisa aos outros, e começaram todos a tirar da carrinha uma série de estacas de madeira. Afinal, as estacas eram hastes para fixar cartazes. Foram empilhando os cartazes no passeio. Metade dos homens encostaram-se à carrinha e começaram a conversar e a fumar.
— Já vi nalgum lado aquele sacana grandalhão — disse Martin.
— Acho que também já o vi — disse Goldberg. — Oh, caraças, já sei. É um desses sacanas do Bacon, um tipo a quem chamam Buck. Também esteve naquela coisa da Gun Hill Road.
Martin endireitou-se no assento. — Tens razão, Davey. É o mesmo filho da mãe. — Olhou fixamente o homem, que estava do outro lado da rua. — Garanto-te que adorava... — falava com um ar sonhador. — Anda filho da mãe, faz lá uma coisa estúpida, anda, meu sacana... Vou sair.
Martin saiu do Dodge, plantou-se no passeio e começou muito ostensivamente a rodar os braços e os ombros como um campeão a descontrair-se antes da luta. Depois Goldberg saiu. Por isso Kramer resolveu sair também. Os manifestantes do outro lado da rua puseram-se a olhar para eles.
Um dos manifestantes, um rapaz bem constituído, de camisa de trabalho e bluejeans, atravessou a rua descontrai-damente, a passo de chulo, e abordou Martin.
— Ouça lá — disse. — Você é da televisão?
Martin deixou cair o queixo e abanou negativamente a cabeça, muito devagar, o mais ameaçadoramente que pôde.
O negro mediu-o com o olhar e disse: — Então de onde é que é, Jack?
— Da Cidade aos Saltos, Agnes — disse Martin.
O outro tentou franzir o sobrolho, depois tentou sorrir, e nem uma coisa nem outra tiveram por resultado mais do que um rosto cheio do mais puro desprezo irlandês. O negro fez meia volta, tornou a atravessar a rua e disse qualquer coisa aos outros, e o negro chamado Buck ficou a olhar para Martin. Martin devolveu o olhar com o seu par de lasers irlandeses. Buck voltou a cabeça e reuniu quatro ou cinco companheiros à sua volta, numa espécie de círculo. Todos eles, de vez em quando, lançavam olhares furtivos a Martin. Este confronto mudo já durava há alguns minutos quando chegou uma segunda carrinha. Dela se apearam alguns brancos, sete homens e três mulheres. Pareciam estudantes universitários, à excepção de uma mulher de cabelo louro já grisalho, comprido e ondulado.
— Pssst, Buck! — chamou. Aproximou-se do homem alto do brinco de ouro, estendeu as mãos e sorriu calorosamente. Ele agarrou-lhe as mãos, embora com menos entusiasmo, e disse: — Olá, como vai isso, Reva? — A mulher puxou-o para si, beijou-o numa face e depois na outra.
— Foda-se, era só o que me faltava! — disse Goldberg. — Esta gaja!
— Você conhece-a? — perguntou Kramer.
— Sei quem é. É uma comunista de merda.
Então a mulher branca, Reva, fez meia volta e disse alguma coisa; um homem e uma mulher brancos tornaram a entrar na carrinha de onde tiraram mais cartazes.
Entretanto chegou uma terceira carrinha. Saíram mais nove ou dez brancos de ambos os sexos, na sua maioria jovens. Puxaram para fora da carrinha um grande rolo de pano, que desenrolaram. Era uma faixa. Kramer conseguiu ler a frase O PUNHO GAY ERGUE-SE CONTRA O RACISMO.
— Que raio é aquilo? — perguntou.
— São as lésbicas e os maricas — disse Goldberg.
— O que é que eles estão aqui a fazer?
— Vêm sempre a estas coisas. Devem gostar de apanhar ar, acho eu. São dos mais ferrenhos de todos.
— Mas qual é o interesse deles neste caso?
— Não me pergunte a mim. Chamam a isto a unidade dos oprimidos. Se algum dos outros grupos precisa de gente para fazer figura de corpo presente, eles aparecem.
Por esta altura, portanto, havia duas dúzias de manifestantes brancos e uma dúzia de negros, que passeavam de um lado para o outro, tagarelavam e montavam cartazes e faixas.
Chegou então um carro. Dois homens saíram. Um deles trazia duas máquinas fotográficas penduradas ao pescoço e um saco de couro com um autocolante do City Light. O outro era um homem alto, de trinta e tal anos, com um
grande nariz e uma madeixa de cabelo louro caída para a testa. A sua pele muito branca estava coberta de manchas vermelhas. Vestia um blazer azul de um corte pouco vulgar, talvez estrangeiro, pensou Kramer. Sem nenhum motivo aparente, deu uma guinada súbita para o lado esquerdo. Parecia sofrer horrivelmente. Deixou-se ficar imóvel no passeio, enfiou um bloco espiral debaixo do braço esquerdo, fechou os olhos e levou ambas as mãos às têmporas, massajando-as durante muito tempo; depois abriu os olhos, pestanejou e pôs-se a observar as pessoas à sua volta.
Martin desatou a rir. — Olhem-me para aquela cara. Parece uma esponja encharcada em álcool. O gajo tem uma ressaca tão grande que nem se pode mexer.
Fallow tornou a guinar para a esquerda. Parecia decidido a rumar para bombordo. O seu sentido de equilíbrio devia estar seriamente afectado. Era absolutamente arrasadora, aquela ressaca, como se tivesse o cérebro envolvido em filamentos membranosos, semelhantes aos filamentos da pele de uma laranja, e cada contracção do seu coração apertasse os fios, ao mesmo tempo que espalhava o veneno por todo o seu organismo. Já tivera muitas dores de cabeça assim latejantes, mas aquela era uma dor de cabeça tóxica, a tal ponto venenosa...
Onde estava a multidão? Teriam vindo parar a outro sítio? Parecia ali haver meia-dúzia de negros e uns vinte estudantes brancos, a andar de um lado para o outro. Uma enorme faixa dizia PUNHO GAY. Punho Gay? Fallow ficara apavorado com a ideia do barulho e da agitação, mas agora era o silêncio que o preocupava.
No passeio, um pouco mais à frente, estava o mesmo negro alto do brinco de ouro que dois dias antes os conduzira ali, a ele e a Vogel. Vogel. Fechou os olhos. Vogel levara-o a jantar no Leicesters na noite anterior, à laia de comemoração (pagamento?) pelo artigo... Tomara um vodka South-side... depois outro... O focinho do monstro!— iluminado por um clarão azul fluorescente!... Tony Stalk e Caroline Heftshank tinham aparecido e tinham-se sentado à mesa deles; Fallow tentara pedir desculpa pelo que acontecera com o jovem amigo de Caroline, Chirazzi, o artista, mas Caroline, com um sorriso estranho, dissera-lhe que não se preocupasse com isso, e ele bebera mais um vodka South-stàe, e Caroline não parava de beber fraseati e de chamar nritt-Withers aos gritos, de uma maneira perfeitamente idiota; Britt-Withers lá se aproximara, e ela desabotoara-lhe
a camisa e puxara-lhe os pêlos do peito com tanta força que o fizera praguejar; e depois Fallow e Caroline já estavam no escritório de Britt-Withers, no andar de cima, onde ele tinha um bull-terrier de olhos líquidos preso por uma corrente, e Caroline continuava a olhar Fallow com o seu sorriso estranho, e ele tentou desabotoar-lhe a blusa, e ela riu e deu-lhe uma palmadinha no rabo, uma palmadinha condescendente, mas aquilo pô-lo doido, e... a superfície do lago agitava-se! — O monstro mexia-se no abismo gelado! — e ela fazia sinal com o dedo, a chamá-lo, e ele sabia que ela estava a divertir-se à sua custa, mas ia ter com ela ao outro lado do escritório, e havia uma máquina — qualquer coisa que tinha a ver com uma máquina e um clarão azul fluorescente — debatia-se!, vinha à supefície! — uma coisa com uma consistência de borracha — quase conseguia ver a cena — quase! — e ela ria-se dele, mas ele não se importava, ela continuava a carregar em qualquer coisa, e vinha lá de dentro um clarão azul, e ouvia-se um barulhinho, e ela baixava-se para apanhar uma coisa — e mostrava-lha — quase a conseguia ver — ela não a escondia — veio à superfície e olhou-o, com os olhos no meio daquele focinho imundo — e era uma espécie de imagem delimitada por um halo fluorescente sobre um fundo preto, e o monstro continuava a olhá-lo com aquele focinho, e ele queria abrir os olhos para o afastar, mas não conseguia, e o buli terrier começava a rosnar, e Caroline já não olhava para ele, nem sequer para mostrar o seu desprezo, por isso ele tocava-lhe no ombro, mas de repente ela estava toda distante, e a máquina continuava a fazer barulhinhos e mais barulhinhos e a disparar clarões azuis, e depois ela tinha um monte de fotografias na mão, e descia as escadas a correr até ao restaurante, e ele não conseguia manter-se direito, caía sempre para o mesmo lado, e então ocorreu-lhe uma ideia horrível. Desceu a correr as escadas, que eram de caracol e muito estreitas, o que o deixou ainda mais zonzo. No piso do restaurante, eram tantos os rostos risonhos e os dentes à mostra! — e Caroline Heftshank estava ao pé do bar a mostrar a fotografia a Cecil Smallwood e a Billy Cortez, e depois havia fotografias espalhadas por toda a sala, e ele andava aos tropeções pelo meio das mesas e das pessoas a recolher as fotografias...
Abriu os olhos e tentou mantê-los abertos. Bronx, Bronx, estava no Bronx. Aproximou-se do homem do brinco de ouro, Buck. Continuava a descair para bombordo. Sentia-se zonzo. Perguntava a si próprio se teria tido um ataque.
— Boa tarde — disse a Buck. Pretendera que a saudação fosse jovial, mas saíra-lhe como uma espécie de arquejo. Buck olhou-o sem dar mostras de o reconhecer. Por isso acrescentou: — Peter Fallow, do City Light.
— Ah, olá, como vai isso, meu? — O tom de voz do homem era agradável, mas não propriamente entusiástico. O autor dos brilhantes artigos do City Light esperava entusiasmo. O negro reatou a sua conversa com uma mulher.
— Quando é que começa a manifestação? — disse Fallow.
Buck olhou-o com um ar distraído. — Assim que chegar a equipa do Canal 1. — Quando chegou às palavras «Canal 1» já estava outra vez a olhar para a mulher.
— Mas onde é que estão as pessoas?
Buck olhou fixamente Fallow e ficou calado alguns instantes, como que a avaliá-lo. — Vão aparecer... assim que cá chegar o Canal 1. — Falava no tom que se adopta para explicar alguma coisa a uma pessoa bem intencionada mas obtusa.
— Estou a ver — disse Fallow, que não estava a ver coisa nenhuma. —Quando... ah... quando chegar o Canal 1, como você diz... o que é que vai acontecer?
— Dê um comunicado ao homem, Reva — disse Buck. Uma mulher branca de ar enérgico e tresloucado enfiou a mão numa grande saca de vinyl que estava poisada no passeio junto aos seus pés e estendeu-lhe duas folhas agrafadas. As fotocópias —fotocópias! Azul fluorescente! O focinho! — traziam o cabeçalho da Aliança do Povo Americano. O título, em maiúsculas, rezava: O POVO EXIGE ACÇÃO NO CASO LAMB.
Fallow começou a ler o documento, mas as palavras amalgamavam-se como goulash diante dos seus olhos. Nesse instante materializou-se a seu lado um jovem e turbulento indivíduo branco. Vestia um casaco de tweed de um mau gosto confrangedor.
— Neil Flannagan, do Daily News — disse o jovem turbulento. — O que é que se passa?
A mulher chamada Reva tirou do saco mais um comunicado. Mr. Neil Flannagan, tal como o próprio Fallow, vinha acompanhado de um fotógrafo. O turbulento Mr. Flannagan nada tinha a dizer a Fallow, mas os dois fotógrafos entenderam-se imediatamente um com o outro. Fallow ouvia-os queixarem-se daquela incumbência. O fotógrafo de Fallow, um homenzinho odioso, de boné na cabeça, não Parava de utilizar a expressão «história de merda». Aparentemente a única coisa de que os fotógrafos dos jornais americanos conseguiam falar com alguma satisfação era do seu desagrado por os mandarem sair do jornal para irem tirar fotografias. As duas dúzias de manifestantes, entretanto, mostravam-se absolutamente indiferentes à presença de representantes de dois dos tablóides da cidade, o Citty Light e o Daily News. Continuavam encostados às carrinhas, disfarçando muito bem a cólera que alegadamente sentiam ante as injustiças de que fora vítima Henry Lamb.
Fallow tentou uma vez mais ler o comunicado mas desistiu logo. Olhou à sua volta. O mais perfeito sossego reinava nas Torres Poe; um sossego demasiado perfeito, dado o tamanho do bairro. Do outro lado da rua viam-se três homens brancos. Um homem baixinho de blusão castanho, um grandalhão com ar de porco de bigode pendente e anorak, e um homem já meio careca, de feições grosseiras, que vestia um fato cinzento de mau corte e uma daquelas gravatas americanas às riscas. Fallow perguntou a si próprio quem seriam. Mas o que mais queria era dormir. Gostaria de poder dormir em pé, como um cavalo.
Então ouviu a mulher, Reva, dizer a Buck: — Acho que são eles. — Espreitaram os dois para o fim da rua. Os manifestantes despertavam do seu letargo.
Vinha a subir a rua uma grande carrinha branca. De um dos lados, em letras enormes, liam-se as palavras THE LIVE1. Buck, Reva e os manifestantes dirigiram-se para a carrinha. Mr. Neil Flannagan, os dois fotógrafos e, finalmente, o próprio Fallow, acabaram por segui-los. Tinha chegado o Canal 1.
A carrinha parou e do banco da frente saiu um homem novo com uma grande cabeleira esvoaçante de caracóis morenos, um blaser azul e calças castanhas.
— Robert Corso — disse Reva, num tom reverente. As portas laterais da carrinha abriram-se e desceram
dois jovens àtjeans, camisolas de malha e sapatos de ténis. O motorista ficou no seu lugar. Buck precipitou-se para a frente.
— Pssst! Robert Corso! Como vai isso, meu? — De um momento para o outro, o sorriso de Buck iluminava a rua inteira.
— O.K.!— respondeu Robert Corso, esforçando-se por parecer igualmente entusiástico. — O.K. — Era óbvio que não fazia ideia de quem fosse aquele negro de brinco na orelha.
— O que é que quer que a gente faça? — perguntou Buck.
O jovem turbulento interrompeu-o: — Ei, Corso! Neil Flannagan, do Daily News.
— Olá, boa tarde.
— O que é que quer que a gente...
-
Onde é que vocês se tinham metido?
— O que é que quer que a gente...
Robert Corso olhou para o relógio. — São só 5.10. Vamos para o ar em directo às 6. Temos imenso tempo.
— Pois, mas o fecho da edição do meu jornal é às sete.
— O que é que quer que a gente faça? — insistia Buck.
— Bom... ora! — disse Robert Corso. — Não sei. O que é que faziam se eu cá não estivesse?
— Buck e Reva olharam para ele com um sorrisinho divertido, como se ele só pudesse estar a brincar.
— Onde estão o Reverendo Bacon e Mrs. Lamb? — perguntou Robert Corso.
— No apartamento de Mrs. Lamb — disse Reva. Fallow levou aquilo a mal. Ninguém se dera ao trabalho de o informar a ele desse facto.
— Ouça, quando você disser nós começamos — disse Buck.
Robert Corso abanou a sua grande cabeleira tufada. Resmungou: — Que diabo, também não posso ser eu a dirigir esta história. — E, para Buck: — Ainda vamos demorar um bocadinho a montar as coisas. Acho que o sítio melhor ainda é o passeio. Quero apanhar os prédios ao fundo.
Buck e Reva deitaram mãos à obra. Começaram a gesticular e a dar instruções aos manifestantes, que se aproximavam da primeira carrinha para pegarem nos cartazes empilhados no passeio. Algumas pessoas vindas das Torres Poe encaminhavam-se para a cena.
Fallow desistiu de Buck e Reva e resolveu abordar Robert Corso. — Desculpe — disse — eu sou Peter Fallow, do City Light. Será que ouvi bem o que você estava a dizer? O Reverendo Bacon e Mrs. Lamb estão cá.
— Fallow? — disse Robert Corso. — Foi você que escreveu os artigos? — Estendeu a mão e apertou a de Fallow com entusiasmo.
— Receio que sim.
- É por sua causa que estamos aqui todos, neste **mal-lugar? — Disse isto com um sorriso aprovador.
— Lamento muito. — Fallow sentiu-se intimamente reconfortado. Era deste género de tributo que ele estava à espera, só que não esperava recebê-lo de um homem da televisão.
Robert Corso pôs um ar sério. — Acha mesmo que o Bacon não nos está a aldrabar com esta história? Bom, é evidente que acha.
— Você não?
— Ora, com o Bacon nunca se sabe. Ele tem uma certa tendência para exagerar. Mas quando entrevistei Mrs. Lamb, se quer que lhe diga a verdade, fiquei muito bem impressionado. Parece-me boa pessoa — é esperta, tem um emprego fixo, e um apartamento simpático e bem arejado. Fiquei bem impressionado. Não sei — acredito nela. O que é que você acha?
— Então já a entrevistou? Julguei que ia agora entrevistá-la.
— Pois vou, mas a outra entrevista é só para dar mais estofo à transmissão directa. Vamos para o ar em directo às seis.
— Dar mais estofo à transmissão... acho que não sei muito bem o que quer dizer isso de dar mais estofo à transmissão directa.
Mas o americano nem reparou na ironia. — Bom, o que nós fazemos é o seguinte: eu vim cá hoje à tarde com uma equipa, depois de ter saído o seu artigo. Fico-lhe muito agradecido! Adoro estes trabalhos no Bronx. Seja como for, entrevistámos Mrs. Lamb e um ou dois vizinhos, fomos filmar o Bruckner Boulevard, o sítio onde o pai do rapaz foi morto e tudo isso, e metemos também umas fotografias do rapaz. Por isso já temos a maior parte da história gravada. Passamos o filme durante um ou dois minutos, depois transmitimos em directo um bocado da manifestação, depois voltamos ao que já está gravado e acabamos com uns segundos em directo. Isso é que é dar estofo a uma transmissão directa.
— Mas o que é que vão mostrar? Só cá estão estas pessoas. São quase todos brancos. — Fallow fez um gesto em direcção de Buck e Reva.
— Oh, não se preocupe. Assim que montarmos o nosso telescópio vai aparecer imensa gente.
— O vosso telescópio?
— O nosso transmissor à distância. — Robert Corso olhou para a carrinha. Fallow seguiu-lhe o olhar. Viu lá dentro os dois homens da equipa, de blue jeans.
— O vosso transmissor à distância. A propósito, onde está a concorrência?
— Concorrência?
— Os outros canais de televisão?
— Oh, prometeram-nos o exclusivo.
— Ah sim? Quem é que vo-lo prometeu?
— O Bacon, acho eu. É por isso que eu não gosto desta história. Porra, o Bacon tem a mania de manipularas coisas. Está sempre em contacto com o meu produtor, Irv Stone. Você conhece o Irv?
— Receio bem que não.
— Mas ouviu falar dele?
— Ammmm!, não, a verdade é que não ouvi.
— Ele já ganhou uma data de prémios.
— Ammmmmm...
— O Irv... bom, o Irv é um tipo porreiro, mas é um desses sacanas que nos anos 60 foram activistas estudantis, na altura das manifestações contra a guerra e tudo isso. E acha que o Bacon é uma espécie de chefe romântico do povo. Na minha opinião ele é mas é umgrandecíssimo oportunista. Mas o caso é que prometeu a Irv um exclusivo se nós fizéssemos uma transmissão directa às seis horas.
— É uma combinação muito simpática. Mas porque é que ele prefere fazer assim? Porque é que não quer que todos os canais estejam aqui?
— Porque assim se arriscava a não conseguir nada de jeito. Aposto consigo que todos os dias há em Nova Iorque vinte ou trinta manifestações a competir por coberturas televisivas. Desta maneira ele sabe que nós apostamos em grande na coisa. Se nos damos ao trabalho de mandar o carro de exteriores, se fazemos uma transmissão directa, e se pensamos ter um exclusivo, então é quase certo que a história vai abrir o noticiário. Vai ser uma coisa ao vivo e em grande, e amanhã a 5 a 7, a 2, e as outras estações todas vão achar que o melhor é cobrirem também a história.
— Estou a ver — disse Fallow. — Mmmmmmm... Mas como é que ele vos pode garantir, como você diz, o exclusivo? o que é que impede as outras estações de aqui aparecerem?
— Nada, só que ele não lhes comunica nem o local nem a hora.
Comigo é que não teve as mesmas atenções, parece-me — disse Fallow. — Ao que vejo, o Daily News sabia o local e a hora.
— Sim — disse Robert Corso — mas você já teve dois **aias de exclusivo. Agora ele tem de deixar entrar os outros jornais. — Calou-se por instantes. O seu rosto jovem e atraente de americano, enquadrado pela cabeleira encaracolada, adquiriu de repente uma expressão melancólica. — Mas acha mesmo que a história é autêntica?
— Oh, é evidente que sim — disse Fallow.
Corso disse: — Este Henry Lamb é... era... é um miúdo simpático. Um aluno brilhante, sem cadastro, sossegado, os vizinhos parecem gostar dele... mas é essa a sua opinião?
— Oh, sem dúvida, sem dúvida — disse o criador do aluno brilhante.
Reva acercou-se deles. — Estamos prontos. Diga quando quer que comecemos.
Robert Corso e Fallow olharam para o passeio, onde as três dúzias de manifestantes estavam agora informalmente alinhados. Tinham as hastes dos cartazes ao ombro, como espingardas de madeira.
Robert Corso disse: — Bacon está pronto? E Mrs. Lamb?
Reva disse: — Quando quiser que eles apareçam diga-me a mim ou ao Buck. O Reverendo Bacon não quer vir para aqui com Mrs. Lamb para ficar parado à espera. Mas ele está pronto.
— O.K. — disse Robert Corso. Virou-se para a carrinha que dizia THE LIVE 1 e perguntou: — Hei, Frank! Tudo a postos?
Do interior da carrinha uma espécie de zumbido. Do tejadilho da carrinha elevava-se uma coluna prateada, um cilindro. Presa à ponta do cilindro via-se uma bandeira ou pendão cor de laranja fosforescente. Não, afinal era um cabo, um cabo solidamente isolado, grosso mas chato, como uma enguia eléctrica. A enguia cor de laranja berrante estava enrolada em espiral à volta do cilindro. O cilindro prateado e a espiral cor de laranja subiam, subiam, subiam. O cilindro era em várias secções, como um telescópio, e crescia cada vez mais; e a carrinha zumbia, zumbia, zumbia.
Começou a sair gente das torres silenciosas do bairro camarário, que de repente tinham deixado de ser silenciosas. Um burburinho, o burburinho de muitas vozes, elevava-se do relvado destruído. Lá vinham eles, homens, mulheres, grupos de rapazes, crianças pequenas, de olhos cravados na lança ascendente, prateada e laranja, e no seu pendão laranja radioactivo.
Agora a coluna erguia-se dois andares e meio acima da rua, com a enguia cor de laranja a envolvê-la. A rua e o passeio já não estavam vazios. Uma grande multidão bem comportada reunia-se para a celebração. Uma mulher gritou: — Robert Corso! — O Canal 1! O homem de cabelo encaracolado que ia aparecer na televisão!
Robert Corso olhou para os manifestantes, que tinham formado uma oval irregular no passeio e começavam a desfilar. Buck e Reva estavam a postos. Buck tinha um megafone na mão. Não tirava os olhos de Robert Corso. Então Robert Corso olhou para os homens da sua equipa. O operador de câmara estava a seis pés de distância. A câmara parecia muito pequena ao lado da carrinha e da enorme coluna, mas a multidão estava enfeitiçada pelo seu olho fundo, toldado de cataratas. A câmara nem sequer funcionava ainda, mas sempre que o cameraman se virava para falar com o operador de som, e o grande olho se deslocava, uma espécie de vaga percorria a multidão, como se a máquina possuísse uma energia cinética própria.
Buck olhou para Robert Corso e ergueu uma mão, de palma voltada para cima, a perguntar: «Quando?» Robert Corso encolheu os ombros e depois, com um ar aborrecido, apontou com o dedo na direcção de Buck. Buck levou à boca o megafone e berrou: — O que é que nós queremos?
— Justiça! — entoaram as três dúzias de manifestantes do princípio. As vozes soaram terrivelmente débeis sobre aquele fundo da multidão, das torres do bairro camarário e da esplêndida lança de prata LIVE 4 YOU (1).
— O QUE É QUE NOS DÃO?
— Racismo!
— O QUE É QUE NÓS QUEREMOS?
— Justiça! — Agora um pouco mais Alto, mas não — O QUE É QUE NOS DÃO!
— Racismo!
Seis ou oito rapazes dos seus doze ou treze anos atropelavam-se e empurravam-se uns aos outros, rindo, num esforço para ficar na linha de visão da câmara. Fallow afastou-se para um dos lados da estrela, Robert Corso, que já tinha o microfone na mão mas não dizia nada. O homem da câmara aproximou-se mais da oval dos manifestantes, e a multidão reagiu com uma vaga de agitação. Começaram a ver-se os cartazes e faixas. JUSTIÇA DE WEISS É JUSTIÇA DOS BRANCOS... LAMB: ASSASSINADO PELA INDIFERENÇA... LIBERTEM JOHANNE BRONX... PUNHO ERGUE-SE CONTRA O RACISMO... O POVO GRITA: VINGUEMOS HENRY!... VÊ
(1) Foneticamente idêntico a «Live for you», «Em directo para si». (N. do T.)
SE TE MEXES, ABE!... GA YS E LÉSBICAS DE NOVA IORQUE EXIGEM JUSTIÇA PARA O NOSSO IRMÃO HENRY LAMB... CAPITALISMO + RACISMO = ASSASSÍNIO LEGALIZADO... ATROPELAR, FUGIR E DEPOIS MENTIR AO POVO!... ACÇÃO, JÁ!...
— O que é que nós queremos?
— Justiça!
— O que é que nos dão?
— Racismo!
Buck voltou o megafone para a multidão. Queria incluir no espectáculo as vozes de toda aquela gente.
— O QUE É QUE NÓS QUEREMOS?
Não houve resposta. Na melhor das disposições, as pessoas assistiam à cena.
; Buck respondeu à sua própria pergunta: — JUSTIÇA! O QUE É QUE NOS DÃO? Nada.
— RACISMO?
— O.K.! O QUE É QUE NÓS QUEREMOS? Nada.
— IRMÃOS E IRMÃS — disse Buck, com o megafone vermelho diante do rosto — o nosso irmão, o nosso vizinho, Henry Lambjoi atropelado... por um condutor que se pôs a fugir... eno hospital... ninguém faz nada por ele. ..e a Polícia e o procurador... não estão para se maçar... Henry está às portas da morte... e eles não se importam... Henry é um aluno brilhante... e eles dizem «O que é que a gente tem a ver com isso?»... tudo porque ele é pobre, porque é aqui do bairro... porque é negro... é por isso que aqui estamos, irmãos e irmãs... Para obrigar o Chuck afazer o que deve!
Isto suscitou alguns risos aprovadores da multidão.
— Para exigir justiça para o nosso irmão, Henry Lamb! — continuou Buck. — Ora bem. O QUE É QUE NÓS QUEREMOS?
— Justiça! — disseram algumas vozes na multidão. — E O QUE É QUE NOS DÃO?
Risos e olhares embasbacados.
O riso provinha de meia-dúzia de rapazes de doze ou treze anos que se atropelavam e empurravam uns aos outros, lutando para ocupar um lugar mesmo atrás do Buck. Isso punha-os no enfiamento do olho da câmara, cuja hipnótica luz vermelha estava agora acesa.
— Quem é Chuck? — perguntou Kramer.
— Chuck é Charlie — disse Martin — e Charlie é o Homem, e falando em nome de Homem, eu bem gostava de deitar a mão àquele monte de merda que ali está.
— Está a ver aqueles cartazes? — perguntou Kramer. — JUSTIÇA DE WEISS É JUSTIÇA DOS BRANCOS e VÊ SE TE MEXES, ABE!
— Pois estou.
— Se mostram aquilo na televisão, o Weiss ainda tem um ataque, porra!
— Cá para mim, já teve um ataque — disse Goldberg. — Olhem-me só esta palhaçada.
Vista do lugar onde estavam Kramer, Goldberg e Martin, a cena do outro lado da rua era um espectáculo curioso. A encenação destinava-se aos Media. Abaixo da flecha dominadora de um carro da televisão, três dúzias de indivíduos, duas dúzias dos quais brancos, desfilavam com cartazes ao ombro, descrevendo uma pequena oval, Onze pessoas dois negros e nove brancos, rodeavam-nos, ocupadas em transmitir a uma cidade de sete milhões de habitantes as suas vozes débeis e as suas mensagens rabiscadas a caneta de feltro: um homem com um megafone, uma mulher com um grande saco de plástico, um locutor de televisão de cabeleira ao vento, um operador de câmara e um operador de som ligados à carrinha por cordões umbilicais, dois técnicos visíveis no interior da carrinha, atrás das portas de correr meias abertas, o motorista da carrinha, dois fotógrafos e dois repórteres de jornais com blocos de notas na mão, um deles ainda a cambalear para estibordo uma vez por outra. Um público de duzentas ou trezentas almas apinhava-se à volta destes indivíduos, apreciando o espectáculo.
— Ora bem — disse Martin — são horas de começar a falar com as testemunhas. — E preparou-se para atravessar a rua, em direcção à multidão.
— Hei, Marty — disse Goldberg. — Tem calma, O.K.? Era tirar as palavras da boca de Kramer. Não seria
propriamente aquele o cenário ideal para tentar dar ao mundo uma demonstração de virilidade irlandesa. Kramer teve uma visão horrível de Martin a arrancar o megafone ao homem do brinco de ouro e a tentar enfiar-lho pela boca abaixo diante dos moradores das Torres Poe ali reunidos. Os três homens, Kramer, Goldberg e Martin iam a meio da rua quando os manifestantes e a multidão se animaram de um súbito fervor religioso. Começaram a fazer uma autêntica algazarra. Buck berrava qualquer coisa pelo megafone. A sofisticada probóscide do operador de câmara deslocava-se de um lado para o outro. Vinda não se sabia de onde, surgira uma figura imponente, um homem de fato preto, com um colarinho branco incrivelmente rígido e uma gravata preta com riscas brancas. Vinha com ele uma mulher negra, baixa, que envergava um vestido escuro de um tecido brilhante, talvez seda ou cetim. Eram o Reverendo Bacon e Mrs. Lamb.
Sherman ia a meio do átrio pavimentado de mármore quando viu Judy na biblioteca. Estava sentada na poltrona de orelhas com uma revista no regaço, a ver televisão. Ergueu os olhos para ele. Que olhar era aquele? Traduzia surpresa, e não ternura. Se ela lhe desse um indício que fosse de ternura, ele entrava na biblioteca e... contava-lhe! Ah, sim? Contava-lhe o quê? Contava-lhe... pelo menos a catástrofe do escritório, a maneira como Arnold Parch lhe tinha falado e, pior ainda, olhado para ele! E os outros também! Como se... Evitou formular por palavras o que os outros teriam pensado dele. O seu desaparecimento súbito, o falhanço do esquema da venda das obrigações com garantia-ouro... e depois contava-lhe também o resto? Se ela não tinha visto um artigo de jornal que falava num Mercedes... RF... Mas não havia o menor indício de ternura. Havia apenas surpresa. Eram seis horas. Já há muito tempo que ele não chegava tão cedo a casa... Havia apenas surpresa naquele rosto magro e triste aureolado de macios cabelos castanhos.
Continuou a andar em direcção à biblioteca. Mesmo assim ia para lá. Sentava-se na outra poltrona e ficava também a ver televisão. Tinham chegado a esse acordo tácito. Podiam sentar-se os dois na biblioteca a ler ou a ver televisão. Isso permitia-lhes dar a imagem de serem uma família, principalmente para uso de Campbell, sem terem de conversar um com o outro.
— Papá!
Sherman voltou-se. Campbell corria para ele, vinda da porta que conduzia à cozinha. O seu rosto exibia um sorriso radioso. O coração de Sherman quase que lhe caiu aos pés.
— Olá, minha querida. — Enfiou-lhe as mãos debaixo dos braços, levantando-a do chão e abraçou-a. Ela apertou-lhe o pescoço com os braços e a cintura com as pernas, e disse: — Papá! Adivinha o que eu fiz!
— O quê?
— Um coelho.
— A sério? Um coelho?
— Já te mostro. — Começou a debater-se, para voltar ao chão.
— Mostras-me? — Ele não queria ver o coelho, não naquele instante, mas a obrigação de parecer entusiasmado foi mais forte que ele. Deixou-a deslizar até ao chão.
— Anda! — Campbell agarrou-lhe a mão e começou a puxá-lo com toda a força. Conseguiu desequilibrá-lo.
— Então? Para onde é que vamos?
— Anda! Está na cozinha! — Rebocando-o para a cozinha, ela inclinava-se tanto para a frente que o peso do seu corpo estava quase suspenso quase unicamente da mão do pai a que se agarrava.
— Hei! Cuidado. Olha que cais, minha querida.
— Anda lá! — Ele seguiu-a, dilacerado entre os seus medos e o seu amor por uma criança de seis anos que lhe queria mostrar o seu coelho.
A porta dava para um pequeno corredor cheio de armários, e depois para a copa, com os seus móveis de portas envidraçadas contendo batalhões cintilantes de cristais, e as suas bacias de aço inoxidável. Os armários, com os seus ornatos, molduras, pilastras, cornijas — não conseguia lembrar-se dos termos todos — tinham custado milhares... milhares... A paixão que Judy pusera naquelas ... coisas... A maneira louca como tinham gasto o dinheiro... Uma hemorragia de dinheiro...
E agora estavam na cozinha. Mais armários, cornijas, aço inoxidável, azulejos, candeeiros, o Sub-Zero, o Vulcan — tudo do melhor que Judy, na sua busca interminável, conseguira encontrar, tudo interminavelmente caro, hemorragia atrás de hemorragia... Bonita estava junto do fogão Vulcan.
— Olá, Mr. McCoy.
— Olá, Bonita.
Lucille, a outra empregada, estava sentada num banco diante de uma bancada, a tomar uma chávena de café.
— Mr. McCoy.
-
Ora viva, Lucille. — Já não a via há séculos; nunca chegava a casa suficientemente cedo. Devia ter alguma coisa para lhe dizer, uma vez que já passara tanto tempo, mas não se conseguiu lembrar de nada, a não ser de como aquilo tudo era triste. Elas continuavam a viver a mesma rotina, firmes na sua crença de que tudo permanecia igual ao que sempre fora.
— É aqui, papá. — Campbell não parava de puxar. Não queria que uma conversa com Bonita e Lucille o desviasse.
— Campbell! — disse Bonita. — Não puxe assim o seu papá!
Sherman sorriu e sentiu que o sorriso não era o que ele queria. Campbell ignorou-a. Finalmente, parou de puxar.
— A Bonita vai-mo cozer no forno. Para ficar duro. Lá estava o coelho. Estava sobre uma mesa de tampo de
fórmica. Sherman ficou embasbacado. Mal podia acreditar. Era um coelho de barro, surpreendentemente bem feito. A execução era primitiva, mas a cabeça inclinava-se para um dos lados, as orelhas formavam um ângulo expressivo e as pernas estavam afastadas numa posição pouco convencional, uma verdadeira posição de coelho; o volume e as proporções do corpo eram excelentes. O animal parecia sobressaltado.
— Minha querida! Foste tu que fizeste isto? Muito orgulhosa: — Fui.
— Onde?
— Na escola.
— Sozinha?
— Sozinha. Juro.
— Olha, Campbell... é um coelho lindo! Fico muito orgulhoso de ti! Tens imenso talento!
Muito tímida: — Eu sei.
De repente Sherman teve vontade de chorar. Um coelhinho assustado. Pensar no que significava ser capaz de desejar, neste mundo, fazer um coelhinho, e depois fazê-lo em toda a inocência, na certeza de que o mundo o receberia com amor e ternura e admiração — pensar nas coisas que ela, com os seus seis anos de idade, tinha por garantidas, nomeadamente, que era assim a natureza do mundo, da mamã e do papá — o seu papá! — fazia com que as coisas fossem assim mesmo e, é claro, impedia que alguma vez viessem a ser diferentes.
— Vamos mostrá-lo à mamã — disse.
— Ela já viu.
— Aposto que adorou.
A vozinha tímida: — Pois foi.
— Bom, então vamos mostrar-lho outra vez os dois.
— A Bonita agora tem de o cozer. Para ficar duro.
— Bem, mas eu tenho de ir dizer à mamã que gostei imenso do teu coelho. — Afectando um acesso de alegria, levantou Campbell do chão e pô-la ao ombro. Ela achou aquilo muito divertido.
— Papá!
— Campbell, estás a ficar tão grande! Qualquer dia já não te consigo carregar assim às costas como um saco de batatas. Ponte baixa! Vamos passar a porta.
No meio de muitos risinhos e muito espernear, Sherman atravessou o átrio de chão de mármore com ela ao colo e entrou na biblioteca. Judy ergueu os olhos com uma expressão severa.
— Campbell, não peças ao papá para andar contigo ao colo. Já és grande demais para isso.
Com uma pontinha de desafio: — Não fui eu que lhe
pedi.
— Estávamos só a brincar — disse Sherman. — Viste o coelho da Campbell? Não é uma maravilha?
— É. É lindo. — E tornou a virar a cara para o lado da televisão.
— Fiquei realmente impressionado. Acho que temos aqui uma rapariguinha cheia de talento.
Não houve resposta.
Sherman passou Campbell do ombro para os braços, como se ela fosse um bebé, e depois sentou-se na poltrona com ela ao colo. Campbell mexeu-se um pouco para encontrar uma posição mais confortável e aninhou-se contra ele; ele apertou-a nos braços. Puseram-se ambos a olhar para o écran da televisão.
Estavam a dar as notícias. A voz de um locutor. Uma massa indistinta de rostos negros. Um cartaz: ACÇÃO — JÁ!
— O que é que eles estão a fazer, papá?
— Parece-me uma manifestação, minha querida. Outro cartaz: JUSTIÇA DE WEISS É JUSTIÇA DE
BRANCOS. Weiss?
— O que é uma manifestação? — Campbell endireitou-se no colo de Sherman ao fazer esta pergunta, tapando o écran. Tentou olhar por trás das costas dela.
— O que é uma manifestação?
Distraidamente, tentando continuar a olhar para o écran: — Ah... é uma... às vezes, quando as pessoas ficam zangadas por algum motivo, fazem uns cartazes e põem-se assim a desfilar com eles.
ATROPELAR, FUGIR E DEPOIS MENTIR AO POVO!
Atropelar e fugir!
— E porque é que as pessoas ficam zangadas?
— Só um minuto, minha querida.
— Porque é que as pessoas ficam zangadas, papá?
— Pelas mais diversas razões. Sherman estava agora todo inclinado para a esquerda, de maneira a conseguir ver o écran. Tinha de segurar com força a filha pela cintura, para não a fazer cair do seu colo.
— Mas quais razões?
— Olha, já vamos ver.
Campbell voltou a cara para o écran mas tornou logo a virar-se para o pai. Só se via um homem a falar, um negro muito alto, de casaco preto, camisa branca e gravata às riscas, ao lado de uma mulher magrinha de vestido escuro. Atrás deles apinhava-se uma quantidade de rostos negros. Alguns rapazes faziam caretas e não paravam de saltar, lá ao fundo, de olhos fixos na câmara.
— Quando um jovem como Henry Lamb — dizia o homem — um aluno brilhante, um rapaz excepcional, quando um jovem como Henry Lamb entra no hospital com um traumatismo craniano grave e lhe tratam um pulso partido... estão a ver... quando a mãe dele dá à Polícia e ao procurador uma descrição do carro que o atropelou, uma descrição desse automóvel... estão a ver... e eles não fazem nada, arrastam os pés...
— Papá, vamos outra vez para a cozinha. A Bonita vai cozer o meu coelho.
— Só um segundo...
— ... para a nossa gente é: «Não queremos saber. Os vossos jovens, os vossos alunos brilhantes, as vossas esperanças não contam, não interessam para nada»... estão a ver?... a mensagem é essa. Mas nós queremos saber, e não vamos ficar parados, nem vamos ficar calados. Se a estrutura do poder não quer fazer nada...
Campbell deslizou do colo de Sherman, agarrou-lhe o pulso direito com ambas as mãos e começou a puxá-lo. — Anda lá papá!
O rosto da mulher negra magrinha encheu o écran. Escorriam-lhe lágrimas pelas faces. Um homem novo, branco, de cabelo aos caracóis, surgiu depois na televisão com um microfone diante dos lábios. Atrás dele havia um autêntico universo de rostos negros e mais rapazes aos pulos para aparecerem diante da câmara.
— ... o automóvel ainda por identificar, um Mercedes-Benz com matrícula começada por RE, RF, RB, ou RP. E, tal como o Reverendo Bacon sustenta que as autoridades estão a enviar a sua mensagem a esta comunidade, os manifestantes que aqui vêem também têm uma mensagem para eles: «Se não iniciam uma investigação sistemática, quem a faz somos nós.» E daqui é tudo. Robert Corso, Live 4 You, no Bronx.
— Papá! — Ela puxava com tanta força que a cadeira se começou a inclinar
— RF? — Judy voltara-se para olhar Sherman. — A matrícula do nosso começa por RF, não é?
Agora! Diz-lhe!
— Papá! Anda! Eu quero ir cozer o coelho!
Não havia preocupação no rosto de Judy. Ficara apenas surpreendida com a coincidência; tão surpreendida que tomara a iniciativa de começar uma conversa.
Agora!
— Papá, anda! — Tratar de pôr o coelho no forno.
14 - Eu Não Sei Mentir
Sherman acordou de um sonho de que não conseguiu lembrar-se com o coração a martelar-lhe na parede do peito. Era a hora dos bebedores, aquela hora a meio da noite em que os bebedores e as pessoas sofrem de insónias acordam de repente e percebem que terminou a evasão do sono. Resistiu à vontade de olhar para o mostrador luminoso do rádio-despertador sobre a mesinha de cabeceira. Não queria saber quantas horas ia ter de passar ali estendido, a lutar contra aquele estranho, o seu coração, que parecia desesperado por fugir para algum longínquo, longínquo, longínquo, longínquo Canadá.
As janelas que davam para a Park Avenue e para a transversal estavam abertas. Entre o limite inferior das persianas e o parapeito via-se uma faixa sombria, de um vago tom de púrpura. Sherman ouviu um automóvel, um automóvel isolado, a arrancar depois da paragem num semáforo. A seguir ouviu um avião. Não era um jacto, era um avião de hélices. O motor parou. Ia despenhar-se! Então tornou a ouvi-lo, zumbindo e roncando sobre a cidade de Nova Iorque. Que coisa estranha...
...a meio da noite. A sua mulher dormia, a quinze polegadas de distância, do outro lado do Muro de Berlim, respirando regularmente... alheada... Estava de costas para ele, deitada de lado, com os joelhos encolhidos. Como seria bom virar-se aconchegar os seus joelhos contra os dele e encostar o peito às suas costas! Noutros tempos, eles podiam... noutros tempos, quando estavam próximos um do outro... conseguiam fazer isso sem se acordarem... a meio da noite.
Não podia ser verdade! Como é que eles conseguiam transpor aquelas paredes e invadir assim a sua vida? O rapaz alto e magrinho, os jornais, a Polícia... à hora dos bebedores.
A sua filhinha querida dormia ao fundo do corredor. Querida Campbell. Uma menina feliz — alheada de tudo! Sentiu toldarem-se-lhe os olhos muito abertos.
Olhou para o tecto e tentou distrair-se de modo a tornar a adormecer. Pensou em... outras coisas... Aquela rapariga que conhecera no restaurante do hotel em Cleveland, daquela vez... a maneira fria, profissional como se despira diante dele... que contraste com Maria... que fazia isto e aquilo, transbordando de... Lascívia!... Fora a lascívia que o levara àquilo... as entranhas do Bronx, o rapaz alto e magrinho... a cair na rua...
Não havia outras coisas. Tudo se ligava àquelas coisas e, ali deitado, só lhe vinham ao espírito imagens horríveis... As caras horríveis no écran de televisão, o rosto sombrio de Arnold Parch, com o seu horrível esforço para parecer severo... a voz evasiva de Bernard Levy... a expressão do rosto de Muriel, como se ela já o soubesse portador de uma mácula terrível, como se soubesse que ele deixara de pertencer ao número dos deuses do Olimpo da Pierce & Pierce... Uma hemorragia de dinheiro... Mas não podiam ser senão sonhos! Tinha os olhos muito abertos, fixos na barra cor de púrpura onde a persiana não chegava ao parapeito... no meio da noite, receando a luz da manhã.
Levantou-se cedo, levou Campbell à paragem da carrinha, comprou os jornais na Lexington Avenue e apanhou um táxi para a Pierce & Pierce. No Times... nada. No Post... nada. No Daily News, só uma fotografia e uma legenda. A fotografia mostrava manifestantes com cartazes e uma multidão ao fundo. Um dos cartazes em primeiro plano dizia JUSTIÇA DE WEISS É JUSTIÇA BRANCA. Dentro de duas horas... o City Light estaria nas bancas.
Era um dia calmo na Pierce & Pierce, pelo menos para ele. Fez as suas chamadas de rotina, para a Prudential, a Morgan Guaranty, a Allen & Company... O City Light... Felix estava no outro extremo da sala. Qualquer tentativa de tornar a recorrer a ele seria demasiado humilhante... Nem uma palavra de Arnold Parch ou de quem quer que fosse. Estarão a preparar-se para me pôr fora?... O City Light... Ia telefonar a Freddy e pedir-lhe para ir buscar o jornal. Freddy podia ler-lho. Telefonou a Freddy, mas ele não estava no escritório, tinha saído para um encontro. Ligou o número de Maria; não conseguiu apanhá-la... O City Light... Não aguentava mais aquilo. Ia descer, comprar o jornal, lê-lo no átrio e voltar ao seu posto. Na véspera, estava ausente sem licença quando chegara uma emissão de obrigações. Tinha perdido milhões — milhões! — no negócio das obrigações com garantia-ouro. Mais uma transgressão não poderia piorar muito as coisas. Tão descontraidamente quanto pôde, atravessou a sala de compra e venda de obrigações em direcção aos elevadores. Ninguém pareceu dar por isso. (Já ninguém se importa!)
No rés-do-chão, no quiosque do átrio, olhou para a direita e para a esquerda e depois comprou o City Light. Foi esconder-se atrás de uma grande coluna de mármore cor-de-rosa. Tinha o coração a bater desordenadamente. Que horror! Que estranho! — viver assim, todos os dias, com uma sensação de medo pessoal dos jornais de Nova Iorque! Nada na primeira página... nem na página 2, nem na 3... Vinha na página 5, uma fotografia e um artigo do mesmo indivíduo, desse tal Peter Fallow. A fotografia mostrava a mulher negra magrinha a chorar, e o homem alto do fato preto a reconfortá-la, Bacon. Ao fundo, viam-se cartazes. O artigo não era longo. Percorreu-o apressadamente... «fúria da comunidade»... «automóvel de luxo»... «condutor branco»... Nenhuma explicação clara acerca do que a Polícia andava a fazer. No fim do artigo havia uma caixa que dizia: «Ver Editorial, página 36». O seu coração começou de novo a bater. Os dedos tremiam-lhe enquanto passava as folhas até à página 36... E ali estava, encabeçando a coluna do editorial,
O título ATROPELAMENTOS À JUSTIÇA.
Na segunda-feira o jornalista do City Light Peter Fallow deu a conhecer a história trágica de Henry Lamb, o jovem e exemplar estudante do Bronx que foi há dias gravemente ferido por atropelamento — e abandonado como mais um simples detrito nesta cidade cheia de desperdícios.
É verdade que, de um ponto de vista jurídico, o caso de Henry Lamb está longe de ser simples. Mas a vida dele também nunca foi simples. Conseguiu sobreviver a tudo o que de mau se atravessou no seu caminho por morar num bairro social — incluindo o assassínio do seu pai por um assaltante — e obter um aproveitamento excepcional no Liceu Ruppert. Henry foi ceifado no limiar de um futuro brilhante. A nossa compaixão não basta a Henry Lamb e às muitas outras pessoas que estão decididas a lutar contra a adversidade nas zonas favorecidas da nossa cidade. Essas pessoas precisam de saber que as suas esperanças e os seus sonhos são importantes para o futuro de Nova Iorque inteira. Apelamos, portanto, para uma investigação agressiva de todos os aspectos , do caso Lamb.
Sherman ficou petrificado. Aquela coisa estava a transformar-se numa cruzada. Pôs-se a olhar para o jornal. Guardava-o ou não? Não; mais valia não ser visto com ele. Procurou com os olhos num cesto de papéis ou um banco. Nada. Fechou o jornal, dobrou-o ao meio, deixou-o cair no chão atrás da coluna e precipitou-se para o elevador.
Almoçou à sua secretária, uma sanduíche e um sumo de laranja, na esperança de parecer diligente. Estava nervosíssimo e extremamente cansado. Não conseguiu acabar a sanduíche. Ao princípio da tarde já sentia um desejo invencível de fechar os olhos e dormir. Tinha a cabeça tão pesada... Um princípio de dor de cabeça fazia-lhe latejar a testa. Perguntou a si próprio se teria apanhado gripe. Devia telefonar a Freddy Button. Mas estava tão cansado. Nesse momento recebeu uma chamada. Era Freddy que lhe telefonava.
— Tem graça, estava agora mesmo a pensar em ligar para si. Saiu hoje um maldito editorial, Freddy..
— Eu sei. Já o li.
— Leu?
— Li os quatro jornais da manhã. Ouça, Sherman, tomei a liberdade de falar ao Tommy Killian. Porque é que não vai ao escritório dele? É na Reade Street; não fica muito longe daí, é junto ao City Hall. Dê-lhe uma apitadela. — Na sua voz velada de fumador, recitou um número de telefone.
— Então também acha que as coisas não vão lá muito bem...
— Não é isso. Naquilo que eu li não há nenhum novo dado importante. É só que o caso está a ganhar um cunho político mais vincado, e o Tommy há-de saber qual a melhor maneira de enfrentar isso.
— O.K. Obrigado, Freddy. Eu telefono-lhe.
Um irlandês da Reade Street chamado Tommy Killian.
Não lhe telefonou. Tinha uma tal dor de cabeça que
fechou os olhos e massajou as têmporas com as pontas dos dedos. Às cinco horas em ponto, o termo oficial do dia de trabalho, foi-se embora. Isto não era boa política. O fim do dia útil era o início da segunda parte do dia para um Senhor do Universo.
O fim do dia útil era como o fim de uma batalha. Depois das cinco horas os Senhores do Universo tratavam de todas as coisas que as pessoas de outros ramos do negócio passavam o dia inteiro a fazer. Calculavam o «líquido líquido», ou seja, as perdas e ganhos reais do dia de trabalho, estudavam os mercados, estudavam as estratégias, discutiam problemas pessoais, investigavam as novas emissões e faziam todas as leituras da imprensa financeira que eram proibidas durante as batalhas diárias. Contavam histórias de guerra, batiam no peito e soltavam gritos de triunfo, caso o merecessem. A única coisa que nunca se devia fazer era regressar pacatamente a casa para junto da mulher e dos filhos.
Sherman pediu a Muriel que lhe chamasse um carro de aluguer. Examinou-lhe o rosto em busca de sinais da sua queda em desgraça. Achou-a absolutamente impassível.
Diante do edifício, a rua estava cheia de automóveis de aluguer estacionados em fila quádrupla ou quíntupla e de homens brancos de fato completo a passear pelo meio deles, de cabeça baixa, semicerrando os olhos, à procura do seu número. O nome da empresa de aluguer e o número figuravam sempre num dos vidros laterais dos automóveis. A Pierce & Pierce trabalhava com uma companhia chamada Tango. Os carros eram todos Oldsmobilese Buicks. A Pierce & Pierce pedia trezentas a quatrocentas corridas por dia, a uma média de 15 dólares cada. O espertalhão do dono da Tango, fosse lá ele quem fosse, devia estar a meter ao bolso um milhão de dólares ao ano, só à custa da Pierce & Pierce. Sherman andava à procura do automóvel Tango 278. Errou no meio daquele mar de automóveis, chocando uma vez por outra com homens muito parecidos com ele, de cabeça baixa, semicerrando os olhos... de fato cinzento escuro... «Desculpe»... «Com licença»... A nova hora de ponta! Nos filmes antigos, a hora de ponta na Wall Street era o metropolitano... Metropolitano?... lá em baixo, misturados com... eles? Isolar-se... Hoje... era vaguear, vaguear... no meio dos automóveis de aluguer... procurar com os olhos, procurar... «Com licença, com licença...» Finalmente, lá encontrou o Tango 278.
Bonita e Lucille ficaram surpreendidas ao vê-lo entrar no apartamento às 5.30. Sherman não se sentia suficientemente bem para ser simpático. Judy e Campbell não estavam em casa. Judy tinha ido levar a filha a uma festa de anos no West Side.
Sherman subiu pesadamente a grande escada sinuosa. Entrou no quarto e tirou o casaco e a gravata. Sem se descalçar, estendeu-se na cama. Fechou os olhos. Sentiu que a sua consciência se afundava, se afundava. Era intoleravel-mente pesada, a consciência.
Mister McCoy. Mister McCoy.
Bonita estava de pé, junto dele. Não conseguia perceber porquê.
— Não queria incomodá-lo — dizia. — Mas o porteiro diz que estão lá em baixo dois polícias.
— O quê?„ , —O porteiro disse...
— Lá em baixo?.....-. ... — Sim. Ele diz que são da Polícia.
Sherman soergueu-se num cotovelo. Lá estavam as suas pernas, estendidas na cama. Não conseguia perceber porquê. Devia ser de manhã, mas tinha os sapatos calçados. Bonita estava ali ao lado. Passou as mãos pelo rosto. . ,
— Bom... diga-lhes que eu não estou.
— O porteiro já disse que estava.
— O que é que eles querem?
— Não sei, Mr. McCoy.
Uma claridade suave e difusa. Seria de madrugada? Sherman encontrava-se num estado hipnagógico. Sentia-se como se tivesse o sistema nervoso bloqueado. Nenhuma referência. Bonita; a Polícia. O pânico instalou-se antes ainda de ele conseguir concentrar-se nos motivos de pânico.
— Que horas são?
— Seis.
Tornou a olhar para as pernas, para os sapatos. Deviam ser seis da tarde. Voltei para casa às 5.30. Adormeci. Ainda aqui deitado... diante de Bonita. O sentido das conveniências, mais do que tudo o resto, levou-o a tirar as pernas da cama e a sentar-se na borda.
— O que é que eu lhe digo, Mr. McCoy?
Ela devia querer saber o que havia de dizer ao porteiro. Não percebia bem. Eles estavam lá em baixo. Dois polícias. E ele sentado na borda da cama, esforçando-se por acordar. Estavam dois polícias lá em baixo com o porteiro. O que é que havia de dizer?
— Diga-lhe... que têm de esperar um minuto, Bonita.
Levantou-se e encaminhou-se para a casa de banho. Tão zonzo, tão hirto; doía-lhe a cabeça; uma espécie de zumbido ecoara-lhe nos ouvidos. A cara que viu no espelho da casa de banho tinha ainda o nobre queixo de sempre, mas estava encovada, ramelosa e decrépita. Tinha a camisa amarrotada e com a fralda de fora. Molhou a cara. Uma gota de água ficou suspensa na ponta do seu nariz. Enxugou-se com uma toalha de rosto. Se ao menos conseguisse pensar. Mas estava completamente bloqueado. Era tudo névoa. Se recusasse recebê-los e eles soubessem que ele ali estava — e sabiam — iam ficar desconfiados, não é verdade? Mas se falasse com eles e eles lhe perguntassem — o quê? Tentou imaginar... Não conseguia concentrar-se. Perguntassem eles o que perguntassem... não sabia... Não! Não podia correr riscos! Não devia recebê-los! Mas o que é que tinha dito a Bonita? «Vão ter de esperar» — como quem dissesse, «Sim, recebo-os, mas têm de esperar um minuto.»
— Bonita! — Voltou ao quarto, mas ela já lá não estava. Saiu para o corredor. — Bonita!
— Estou aqui, Mr. McCoy.
Do patamar do andar de cima viu-a à espera, ao fundo da escada. — Ainda não falou com o porteiro, não?
— Já, já falei. Disse para eles esperarem.
Merda. Aquilo deixava implícito que ele estava disposto a recebê-los. Tarde de mais para bater em retirada. Freddy! Ia telefonar a Freddy! Marcou o número do escritório. Ninguém atendeu. Marcou o número principal da Dunning Sponget e perguntou por ele; após o que lhe pareceu uma espera interminável, disseram-lhe que já tinha saído. Telefonar para casa dele. Qual era o número? A agenda no andar de baixo, na biblioteca.
Desceu as escadas a correr — mas viu que Bonita ainda estava na entrada. Não podia parecer inquieto diante dela. Dois polícias lá em baixo, com o porteiro. Atravessou o pavimento de mármore a um passo que, com um pouco de sorte, poderá ter parecido calmo.
Guardava a agenda numa prateleira da secretária. Os dedos tremiam-lhe ao virar as folhas. B. O telefone — não estava em cima da secretária. Alguém o tinha deixado na mesinha ao lado da poltrona. Que descaramento! Contornou a secretária e precipitou-se para a cadeira. O tempo a Passar. Marcou o número de Freddy. Atendeu uma criada. Os Buttons tinham ido jantar fora. Merda. E agora? O tempo a passar, a passar, a passar. O que é que o Leão faria no seu lugar? O tipo de família onde a colaboração com as autoridades era automática. Só podia haver um motivo para não colaborar: o facto de se ter alguma coisa a esconder. Naturalmente, eles dariam logo por isso, se uma pessoa não colaborasse. Se ao menos...
Saiu da biblioteca e voltou ao átrio. Bonita ainda lá estava. Olhou-o com um ar muito atento — e foi isso que o fez decidir-se. Não queria parecer medroso ou indeciso diante dos criados. Não queria parecer uma pessoa em apuros.
— Muito bem, Bonita. — Tentou adoptar o tom de alguém que já está maçado e sabe que vai ser obrigado a perder ainda mais tempo com futilidades. — Que porteiro é que está hoje de serviço? Eddie?
— Sim, o Eddie.
— Diga-lhe que os mande subir. Peça-lhes para esperarem aqui. Eu já desço outra vez.
Subiu as escadas com um ar firme e decidido. Quando chegou ao patamar, precipitou-se para o quarto. O que viu no espelho foi um indivíduo todo remeloso e amarrotado. Espetou o queixo. Aquilo ajudava. Ia ser forte. Não perderia a cabeça. Seria... permitiu-se empregar a expressão... um Senhor do Universo.
Que aparência devia ser a sua? Devia tornar a vestir o casaco e a pôr a gravata? Tinha vestida uma camisa branca, as calças de um fato de flanela de lã às riscas fininhas e calçava um par de sapatos pretos. Com a camisa e a gravata, teria um ar terrivelmente Wall Street, terrivelmente conservador. Eles podiam não gostar. Correu para o outro quarto de cama, que era agora o seu quarto de vestir, tirou do roupeiro um casaco de íwmí axadrezado e enfiou-o à pressa. O tempo a passar, a passar. Muito mais descuidado, descontraído... um homem na sua própria casa, completamente descontraído. Mas o macio casaco de tweed não condizia com as calças bem vincadas. Além disso... um casaco desportivo... um tipo todo desportivo... um jovem estoira-vergas que anda por aí a fazer estragos com o automóvel... Despiu o casaco de tweed, atirou-o para cima do sofá-cama e voltou ao quarto principal. O casaco e a gravata estavam negligentemente pendurados nas costas de uma cadeira estofada. Pôs a gravata e fez um nó bem apertado. O tempo a passar, a passar. Vestiu o casaco e abotoou-o. Ergueu o queixo e endireitou os ombros. Wall Street. Foi à casa de banho pentear o cabelo para trás. Tornou a erguer o queixo. Sê forte. Um Senhor do Universo.
Precipitou-se para o corredor e depois abrandou ao aproximar-se das escadas. Desceu com passos lentos e esforçando-se por se lembrar de manter as costas direitas.
Eles estavam especados no meio do pavimento de mármore, os dois homens e Bonita. Como aquilo era estranho! Os dois homens tinham as pernas ligeiramente afastadas, e Bonita mantinha-se a uns sete ou oito pés de distância, como se os polícias fossem o seu pequeno rebanho. O coração de Sherman batia a bom ritmo.
O maior dos dois parecia um enorme pedaço de carne com roupas vestidas. O casaco do fato empinava-se-lhe na barriga de lutador como um bocado de cartão. Tinha uma cara gorda e morena, uma cara mediterrânica, no modo de ver de Sherman. O seu bigode não condizia com o seu cabelo. O bigode encaracolava-se de ambos os lados da boca, num estilo que para um vendedor de obrigações da Pierce & Pierce significava imediatamente Classes Baixas. O polícia grande pôs-se a olhar fixamente para Sherman enquanto ele descia as escadas, mas o outro, o mais pequeno, não o imitou. Este vestia um casaco desportivo, calças castanhas do tipo que uma esposa poderia ter escolhido para condizer com o casaco. Estava a observar o átrio, como um turista... o mármore, a cómoda de teixo, a seda cor de alperce nas paredes, as cadeiras Thomas Hope, todos os retoquezinhos perfeitos de Judy, retoques que valiam dezenas de milhares de dólares, uma autêntica hemorragia... O nariz do homem era grande, mas o queixo era retraído e o maxilar pouco firme. Tinha a cabeça meia torta, como se um ímpeto terrível a tivesse amolgado de um dos lados. Depois assestou em Sherman o seu olhar vesgo. Sherman ouvia o bater do seu próprio coração e o ruído que os seus sapatos faziam ao tocar no pavimento de mármore. Manteve o queixo erguido e obrigou-se a sorrir amavelmente.
— Meus senhores, em que é que posso ajudá-los? — Olhou para o grandalhão ao dizer isto, mas foi o pequenino, o vesgo, quem respondeu.
— Mr. McCoy? Eu sou o Detective Martin, e este é o Detective Goldberg.
Devia ou não apertar-lhes a mão? Já agora... Estendeu a mão, e apertaram-na primeiro o pequenino, depois o grande. Aquilo pareceu embaraçá-los. Os apertos de mão não foram muito enérgicos.
— Estamos a investigar um acidente de automóvel de que resultou um ferido grave. Talvez já tenha lido alguma coisa sobre o caso ou visto a reportagem na televisão. — Enfiou a mão num bolso interior do casaco, de onde tirou uma folha de papel dobrada ao meio. Estendeu-a a Sherman. Era um recorte de jornal, o primeiro artigo do City Light. A fotografia do rapaz alto e magrinho. Certas passagens estavam sublinhadas a marcador amarelo. Bruckner Boulevard. Mercedes-Benz. R. Iriam os seus dedos pôr-se a tremer? Se ficasse com o papel na mão o tempo suficiente para ler o artigo todo, iam tremer de certeza. Ergueu os olhos para os dois detectives.
— Vimos uma coisa sobre este caso ontem à noite na televisão, a minha mulher e eu. — Devia dizer que tinha ficado surpreendido? Ou «que coincidência!» Apercebeu-se então de um facto, que formulou por estas simples palavras: Eu não sei mentir. — Pensámos: meu Deus, nós também temos um Mercedes, e a matrícula começa por R. — Tornou a lançar uma olhadela ao recorte e devolveu-o rapidamente ao mais pequeno, Martin.
— O senhor e mais uma data de gente — disse Martin, com um sorriso tranquilizador. — Andamos a tentar controlá-los a todos.
— Quantos é que são?
— São muitos. Temos uma data de agentes a trabalhar nisto. Só o meu sócio e eu temos aqui uma lista com uns vinte nomes.
Bonita continuava ali especada, a olhar, registando tudo o que ouvia.
— Bom, entrem para aqui — disse Sherman, dirigindo-se ao polícia chamado Martin. Apontou para a biblioteca. — Bonita, faça-me um favor. Se Mrs. Mc Coy e Campbell voltarem, diga-lhes que estou com estes senhores na biblioteca.
Bonita acenou com a cabeça e retirou-se para a cozinha.
Na biblioteca, Sherman parou junto à secretária e indicou aos dois homens, com um gesto, a poltrona de orelhas e o cadeirão Sheraton. O mais pequeno, Martin, pôs-se a olhar a toda a sua volta. Sherman apercebeu-se com nitidez da quantidade de... bugigangas... manifestamente caríssimas que se acumulavam naquela pequena sala... fabulosamente atravancada... de bagatelas... e quando os olhos do pequeno detective chegaram ao friso em relevo, ficaram lá cravados. Depois virou-se para Sherman com uma expressão franca e maliciosa no rosto, como se dissesse: «Nada mal!» Finalmente sentou-se no cadeirão, e o outro, Goldberg, na poltrona de orelhas. Sherman sentou-se à secretária.
— Ora bem, vamos lá ver — disse Martin. — É capaz de nos dizer se alguém se serviu do seu carro na noite em que isto aconteceu?
— Quando foi, ao certo? — Bom... agora não tenho outro remédio senão mentir.
— Na terça-feira da semana passada — disse Martin.
— Não sei — disse Sherman. — Deixe ver se me consigo lembrar...
— Quantas pessoas é que conduzem o seu carro?
— Principalmente eu, e às vezes a minha mulher.
— Tem filhos?
— Tenho uma filha, mas ainda só tem seis anos.
— Mais alguém tem acesso ao carro?
— Não, acho que não, a não ser os empregados da garagem.
— A garagem? — perguntou Martin. — Tem um lugar alugado numa garagem?
— Tenho. — Para que é que tinha falado da garagem?
— Deixa lá ficar o carro, com as chaves, e eles estacionam-no?
— Pois.
— E onde é a garagem?
— É... perto daqui. — O cérebro de Sherman começou a funcionar a uma velocidade estonteante. Eles suspeitam dos empregados! Não, é uma ideia disparatada. Dan! Estava mesmo a vê-lo, àquele anãozinho gorducho de cabeleira ruiva. Há-de ficar todo contente se lhes puder dizer que eu saí com o carro nessa noite! Mas talvez não se lembrasse, ou não soubesse em que noite tinha sido. Oh, lembra-se com certeza! Da maneira como eu o tratei...
— Podemos lá ir dar uma olhadela?
A boca de Sherman ficou seca de repente. Sentia que os lábios lhe mirravam.
— Ao carro?. .
— Sim.
— Quando?
— A seguir a sairmos daqui, para nós é boa altura.
— Querem dizer agora? Bom, não sei... — Sherman sentia-se como se tivesse um fio a repuxar e a franzir os músculos dos seus lábios.
— Há certas e determinadas coisas que são indícios de um acidente deste tipo. Se o carro não tiver nenhuma dessas coisas, passamos ao que vem a seguir na lista. Neste momento estamos à procura de um carro. Não temos uma descrição do condutor. Portanto, se não se importa...
— Bom... não sei... — Não! Deixa-os ver o carro! Não vão encontrar nada que lhes interesse! Ou será que encontram? Alguma coisa que eu não saiba, de que eu nunca tenha ouvido falar? Mas se eu disser que não eles ficam desconfiados! Diz que sim! Mas imagina que o anãozinho ruivo está de serviço..-.
— É uma coisa de rotina. Temos de ver todos os carros.
— Eu sei, mas aaah, se isto, aaah, é uma coisa de rotina, então parece-me que eu devia... seguir a rotina que eu... que me compete a mim, a uma pessoa que tem um carro nesta situação. — A sua boca contraía-se cada vez mais. Viu os dois homens trocarem olhares furtivos.
O mais pequeno, Martin, tinha no rosto uma expressão de grande desapontamento. — O senhor quer colaborar connosco, não quer?
— Sim, é claro.
— Ora bem, isto não é nada de muito complicado. Faz parte da rotina. Temos de ver os carros.
— Eu sei, mas se há uma rotina... então é isso que eu gostaria de fazer, seguir uma rotina. Quer-me parecer que seria o mais lógico.
Sherman teve consciência nítida de que estava a dizer uma série de disparates, mas agarrou-se à palavra rotina como se a sua vida dependesse disso. Se ao menos conseguisse controlar os músculos à volta da boca...
— Desculpe, não estou a perceber — disse Martin. — Que rotina?
— Bom, vocês é que falaram de rotina, da vossa rotina de investigação destes casos. Não sei como é que estas coisas funcionam, mas deve haver uma rotina para os donos de carros na minha situação... quer dizer, acontece que eu tenho um carro de uma dada marca e com uma determinada matrícula... uma matrícula... e sei que deve haver uma rotina. É só isso que eu estou a tentar dizer. Acho que é preciso ter isto em conta. A rotina.
Martin pôs-se de pé e tornou a olhar para o friso esculpido. Os seus olhos seguiram-no, percorrendo metade do perímetro da sala. Depois olhou Sherman, com a sua cabeça amolgada de um dos lados. Tinha um sorrisinho nos lábios. Descarado! Arrepiante!
-
Ora bem, a rotina é... não é nada complicada. Se o senhor quer colaborar connosco e não se importa de colaborar connosco, colabora e pronto, nós vamos ver o carro e seguimos o nosso caminho. Nada de complicado. O.K.? Se não quer colaborar, se tem as suas razões para não colaborar, não colabora, e obriga-nos a fazer a coisa oficialmente, o que acaba por vir a dar no mesmo; a escolha é sua.
— Bom, é só que... — Não sabia como acabar a frase.
— Quando foi a última vez que guiou o seu carro, Mr. McCoy? — Era o outro, o grandalhão, Goldberg, que continuava sentado na poltrona de orelhas. Por um instante Sherman sentiu-se grato pela mudança de assunto.
— Deixe-me ver... Foi no fim-de-semana, acho eu, a menos que... deixe-me ver se já o tornei a guiar depois disso...
— Quantas vezes se serviu do carro nas duas últimas semanas?
— Não sei ao certo... Deixe-me ver...
Olhava para o grande pedaço de carne sentado na poltrona, tentando desesperadamente arranjar uma maneira de responder, mentindo, àquelas perguntas — e pelo canto do olho via o mais pequeno aproximar-se, contornando a secretária.
— Com que frequência é que o costuma guiar? — perguntou Goldberg.
— É conforme.
— Quantas vezes por semana?
— Como lhe digo, é conforme.
— É conforme. Vai de carro para o trabalho? Sherman olhou fixamente o grande pedaço de carne,
com o seu bigodinho. Havia qualquer coisa de francamente insolente naquela pergunta. Era tempo de acabar com aquilo, de marcar a sua posição. Mas que tom adoptar? Aqueles dois estavam ligados por fios invisíveis a um Poder... perigoso... que ele não compreendia. O quê!
O mais pequeno, Martin, estava agora do mesmo lado da secretária que ele. Do fundo da sua cadeira, Sherman ergueu os olhos para Martin, e Martin olhou-o de cima para baixo com a sua expressão vesga. A princípio pôs um ar muito triste. Depois sorriu um sorriso corajoso.
— Ouça, Mr. McCoy — disse, sorrindo no meio da sua tristeza — tenho a certeza que o senhor quer colaborar; só gostava que não se prendesse tanto com a rotina. É que nós temos de verificar tudo com muito cuidado neste caso, porque a vítima, este Mr. Lamb, está muito mal. O mais prová-vel é que venha a morrer. Por isso pedimos a toda a gente que colabore connosco, mas ninguém é obrigado. Se preferir, Pode não nos dizer nada. Tem esse direito. Está a perceber?
Ao dizer: «Está a perceber?» inclinou ainda mais a cabeça e sorriu um sorriso incrédulo que significava que Sherman teria de ser um cidadão terrivelmente ingrato, insensível e indisciplinado para não colaborar.
Depois apoiou ambas as mãos no tampo da secretária de Sherman e inclinou-se para a frente até os seus braços suportarem todo o peso do tronco. Ficou, assim, com o rosto mais próximo do de Sherman, embora continuasse a olhá-lo de cima para baixo.
— Quer dizer, o senhor sabe com certeza — disse — que tem direito à presença de um advogado.
Pela maneira como pronunciou advogado, dir-se-ia que estava a fazer um esforço por pensar em todas as alternativas disparatadas e ridículas que se ofereciam a um indivíduo — um indivíduo bem mais mesquinho e tortuoso do que Sherman, é claro. — Está a perceber, não é verdade?
Sherman deu por si a acenar involuntariamente com a cabeça. Um tremor gelado começou a invadir-lhe o corpo todo.
— Aliás, se por algum motivo não tivesse meios para pagar a um advogado — disse isto com um sorriso de cumplicidade e um ar muito bem disposto, como se ele e Sherman fossem amigos de longa data, com as suas brincadeiras e piadas que só os dois entendiam — e fizesse questão de recorrer a um advogado, o Estado arranjava-lhe um, de graça. Se por algum motivo quisesse um advogado.
Sherman tornou a acenar com a cabeça. Fitou o rosto assimétrico daquele homem. Sentia-se incapaz de agir ou oferecer resistência. A mensagem do outro parecia ser: «Escuso de lhe estar a dizer estas coisas. O senhor é um cidadão respeitável, está muito acima de tudo isto. Mas se por acaso não for o que nós pensamos... então é com certeza o tipo de micróbio que nós temos de exterminar.»
— O que eu quero dizer é que nós precisamos da sua colaboração.
Então endireitou-se outra vez, sentou-se na beira da secretária e olhou Sherman nos olhos.
«Ele está sentado na beira da minha secretária!» Sorriu com o ar mais caloroso deste mundo e perguntou, delicadamente: — Bom, então o que é que tem a dizer-nos, Mr. McCoy? O meu camarada perguntou-lhe se ia de carro para o trabalho. — Sempre com o mesmo sorriso.
«Que desplante! Este tom de ameaça! Sentado na minha secretária! Que insolência bárbara!»
— Vai ou não? — Com o seu sorriso assimétrico. — Vai de carro para o emprego?
O medo e a indignação brotaram num só jacto. Mas o medo subiu mais alto. — Não, não vou.
— Então quando é que se serve dele?
— Aos fins de semana... Ou... sempre que preciso... durante o dia, e talvez à noite, também, uma vez por outra. Quer dizer, durante o dia é raro, a não ser quando a minha mulher o guia, quer dizer, ou seja, é difícil dizer.
— Então é possível que a sua mulher o tenha usado na terça-feira da semana passada?
— Não! Quer dizer, acho que não.
— E o senhor, no fundo, pode tê-lo usado em qualquer altura, mas não se lembra.
— Não é isso. É só que... eu não tomo nota das vezes que saio com o carro, não tenho nenhum registo, não penso assim tanto no assunto, acho eu.
— Com que frequência é que guia o carro à noite? Desesperadamente, Sherman tentou calcular qual seria
a resposta correcta. Se dissesse muitas vezes, isso não tornaria mais verosímil que o tivesse guiado naquela noite! Mas se dissesse raramente — então não deveria estar muito seguro quanto ao facto de o ter ou não guiado naquela noite precisa?
— Não sei — disse. — Não muitas vezes... mas acho que com uma certa frequência, comparativamente.
— Não muitas vezes mas com uma certa frequência comparativamente — disse o detective baixinho, num tom monocórdico. Quando chegou à palavra comparativamente, olhou para o seu companheiro. Depois virou a cabeça e tornou a olhar Sherman do seu poleiro na borda da secretária.
— Bom, mas voltemos ao carro. Porque é que não vamos lá dar-lhe uma vista de olhos? O que é que me diz?
— Agora?
— Pois.
— Agora não é boa altura.
— Porquê, tem algum compromisso?
— Estou... à espera da minha mulher.
— Vão sair, é?
— Eu... euuuuuuuuuhhhhh! — A primeira pessoa do singular degenerou numa espécie de suspiro.
— Vão sair no carro? — perguntou Goldberg. — Podíamos aproveitar para lhe dar uma vista de olhos. Não demora nada.
Por um instante Sherman pensou em ir buscar o carro à garagem e deixar os polícias examiná-lo em frente à porta principal do prédio. Mas, e se eles não estivessem pelos ajustes? Se resolvessem ir com ele — e encontrassem o Dan?
— Disse que a sua mulher não demora? — perguntou o mais pequeno. — Talvez devêssemos esperar e falar com ela, também. Talvez ela se lembre se alguém saiu com o carro na terça-feira da semana passada.
— Bom, ela... agora não é nada boa altura, meus senhores.
— Então quando é que é boa altura? — perguntou o baixinho.
— Não sei. Dêem-me algum tempo para pensar no assunto.
— Pensar em quê? Pensar quando é que é boa altura? Ou pensar se está disposto a colaborar connosco?
— Não é essa a questão. O que me preocupa é... bom... o procedimento.
— O procedimento?
— A maneira de tratar de uma coisa como esta. Correctamente.
— O procedimento é a mesma coisa que a rotina? — O detective olhou-o de cima a baixo com um sorrisinho insolente.
— Procedimento... rotina... Eu não estou familiarizado com a terminologia. Parece-me que no fundo é a mesma coisa, sim.
— Também eu não estou familiarizado, Mr. McCoy, porque essa tal terminologia não existe; não há nenhum procedimento nem nenhuma rotina. Uma pessoa ou colabora numa investigação ou não colabora. Julguei que o senhor queria colaborar...
— Quero, mas vocês limitaram a minha capacidade de escolha.
— Capacidade de escolha?
— Bom... ouça. Acho que o melhor que eu tenho a fazer é... é discutir o assunto com um advogado.
Assim que lhe saíram da boca estas palavras, sentiu que acabava de fazer uma confissão terrível.
— Como já lhe disse — respondeu o detective mais pequeno — está no seu direito. Mas para que é que quer falar com um advogado? Para que é que quer meter-se em trabalhos e despesas?
— Só quero ter a certeza de estar a proceder — e logo receou complicar ainda mais as coisas ao empregar esta forma verbal da família de procedimento — correctamente.
O gordo, instalado na poltrona de orelhas, resolveu intervir. — Deixe-me perguntar-lhe uma coisa, Mr. McCoy. Por acaso não está com vontade de desabafar connosco, não?
Sherman sentiu-se gelar. — Desabafar convosco?
— É que, se por acaso estiver — um sorriso paternal — que insolência! — é agora o momento de o fazer, antes que as coisas vão longe de mais e se compliquem.
— Mas por que motivo é que eu havia de querer desabafar? — Queria parecer firme, mas a pergunta traduziu apenas a sua confusão.
— Isso pergunto-lhe eu a si.
Sherman pôs-se de pé e abanou a cabeça. — Não me parece que valha a pena continuarmos com a conversa neste momento. Vou ter que falar primeiro...
O baixinho, ainda sentado na secretária, concluiu a frase por ele: —... com um advogado?
— Sim.
O polícia mais pequeno abanou a cabeça como se costuma fazer quando uma pessoa a quem se dá um conselho parece decidida a persistir na sua atitude imprudente. — É um direito seu. Mas se tem alguma coisa substancial para contar a um advogado, fica em melhor situação se deitar já tudo cá para fora. E vai-se sentir melhor. Seja lá o que for, provavelmente não é tão grave como o senhor pensa. Toda a gente comete erros.
— Eu não disse que havia alguma coisa substancial. E não há. — Sentiu-se encurralado.
«Estou a tentar jogar o jogo deles — quando devia era começar por rejeitar o jogo!»
— Tem a certeza? — perguntou o gordo com aquilo que ele obviamente julgava ser um sorriso paternal no rosto. Na realidade, era... horrível... obsceno...
«Que descaramento!»
Sherman passou pelo polícia baixinho, que continuou sentado na secretária, seguindo-o com os seus olhinhos ameaçadores. Perto da porta, Sherman voltou-se e olhou para os dois homens.
— Lamento muito — disse — mas não vejo motivo para estar a entrar nisto... parece-me preferível não discutir mais o assunto.
Finalmente, o baixinho lá se levantou —finalmente, lá se decidiu a sair do seu poiso arrogante em cima da secretaria! Encolheu os ombros e olhou para o gordo, que também se pôs de pé.
— Muito bem, Mr. McCoy — disse o mais pequeno — tornamos a vê-lo... na companhia do seu advogado. — Da maneira como disse aquilo, parecia querer significar: «Tornamos a vê-lo... no tribunal.»
Sherman abriu a porta da biblioteca e fez um gesto, convidando-os a passar ao átrio de entrada. Parecia-lhe de extrema importância o facto de ser ele a apontar-lhes a porta, saindo em último lugar — para provar que, afinal de contas, estava em sua casa e era senhor de fazer o que bem entendesse.
Quando chegaram à porta do vestíbulo do elevador, o baixinho disse ao grandalhão: — Davey, tens um cartão? Dá um cartão a Mr. McCoy.
O gordo tirou um cartão do bolso lateral do casaco e estendeu-o a Sherman. O cartão estava amarrotado.
— Se mudar de ideias — disse o mais pequeno — é só telefonar.
— Sim, sim, pense bem — disse o gordo, com o seu horrível sorriso. — Seja lá o que for que tem na ideia, quanto mais depressa no-lo disser melhor para si. É assim mesmo. Por enquanto ainda está em condições de colaborar. Se ficar à espera... a máquina começa a funcionar... — Virou as palmas das mãos para cima, como se dissesse: «E você fica metido num grande sarilho.»
Sherman abriu a porta. O baixinho disse: — Pense bem no assunto.
E, ao sair, o grandalhão despediu-se com uma horrível piscadela de olho.
Sherman fechou a porta. Tinham-se ido embora. Em vez de ficar aliviado, sentiu-se invadido por um desalento esmagador. Todo o seu sistema nervoso central lhe dizia que ele acabava de sofrer uma derrota catastrófica — e, no entanto, não percebia o que é que se tinha passado. Não conseguia analisar as suas feridas. Tinha sido ultrajantemente violado — mas como é que aquilo tinha acontecido? Como é que aqueles dois... animais... insolentes e reles... tinham podido invadir a sua vida?
Quando se voltou, viu que Bonita saíra da cozinha e estava especada no limite do pavimento de mármore. Tinha de lhe dizer alguma coisa. Ela sabia que os dois homens eram da polícia.
— Eles estão a investigar um acidente de automóvel, Bonita. — Falara num tom excessivamente agitado.
— Ah, um acidente. — Os olhos arregalados de Bonita diziam: «Conte-me mais.»
— Pois... não sei. Um dos carros que esteve implicado no acidente tinha uma matrícula parecida com a de um dos nossos. Ou coisa parecida. — Suspirou e fez um gesto de impotência. — Não consegui perceber a história toda.
— Não se preocupe, Mr. McCoy. Eles sabem que não foi o senhor. — Para ela ter dito aquilo daquela maneira, era porque se via que ele estava realmente muito preocupado.
Sherman dirigiu-se para a biblioteca, fechou a porta e esperou três ou quatro minutos. Sabia que aquilo era irracional, mas tinha a sensação de que, se não ficasse à espera até os dois polícias saírem do prédio, eles tornariam a aparecer ali à sua frente, como que por magia, a sorrirem e a piscarem o olho daquela maneira horrível. Depois telefonou para casa de Freddy Button e deixou recado, pedindo para ele lhe ligar assim que chegasse, fosse a que horas fosse.
Maria. Tinha de falar com ela. Atrever-se-ia a telefonar-lhe? Nem sequer sabia onde ela estava... no esconderijo, no apartamento da Quinta Avenida... Escuta telefónica!... Haveria alguma maneira de eles começarem desde já a escutar-lhe as chamadas? Teriam deixado na sala algum aparelho para esse fim?... Tenho de me acalmar... Isto é um disparate... Mas, e se Judy já tivesse chegado, e eu não a tivesse ouvido?
Levantou-se da cadeira e foi até ao imponente átrio da entrada... Ninguém... Ouviu um ligeiro clink clink... A placa metálica da licença na coleira de Marshall... O melancólico dachsundsaiu, bamboleando-se, da sala de estar... As unhas do animal arranhavam o mármore do chão... Aquela salsicha ambulante... a causa de metade dos meus problemas... E o que te importa a ti a Polícia?... Comida e passeios, comida e passeios... Então Bonita enfiou a cabeça na abertura da porta... Não queres perder pitada, hã? Estás mortinha por apanhar toda esta história dos polícias, com todos os pormenores, não é?... Sherman olhou-a fixamente, com um ar acusador.
— Oh, julguei que era Mrs. McCoy que tinha chegado — disse.
— Não se preocupe — disse ele. — Quando Mrs. McCoy e Campbell chegarem, você há-de ouvi-las. — E até lá, não meta o nariz na minha vida.
Percebendo, sem margem para dúvidas, o que o seu tom de voz significava, Bonita retirou-se para a cozinha. Sherman voltou à biblioteca. Vou arriscar um telefonema. Nesse Preciso instante, abriu-se a porta do vestíbulo do elevador.
Judy e Campbell.
E agora? Como é que podia telefonar a Maria? Teria de contar a Judy a história da polícia? Se não o fizesse, Bonita encarregar-se-ia de o fazer.
Judy olhou-o com um ar interrogador. Que raio de maneira de se vestir, a dela! Trazia calças de flanela branca, uma camisola de caxemira branca e uma espécie de blusão preto, à punk, com chumaços nos ombros... até... aqui... mangas arregaçadas quase até aos cotovelos, lapelas ridiculamente grandes, até cá abaixo... Em contrapartida, Campbell tinha um ar superlativamente senhoril, com a sua saia e blazer cor de borgonha e a sua blusa branca de gola redonda... Porque seria que agora todas as rapariguinhas se vestiam como senhoras e as mães como miúdas adolescentes?
— Sherman — disse Judy, com uma expressão preocupada — aconteceu alguma coisa?
Devia contar-lhe já a história da polícia? Não! Tinha de sair e telefonar a Maria!
— Hum, não — disse — estava só...
— Papá! — disse Campbell, aproximando-se dele. — Estás a ver estas cartas?
«A ver estas cartas?»
Estendeu-lhe três cartas de jogar em miniatura, o ás de copas, o ás de espadas e o ás de ouros.
— O que é que são? — disse.: «O que é que são?»
— Não sei, minha querida. Cartas de jogar.
— Sim, mas que cartas são?
— Só um minuto, minha querida. Judy, vou ter de sair, mas não demoro.
— Papá! Que cartas são?
— Foi o ilusionista que lhas deu — disse Judy. — Diz-lhe lá que cartas são. — Um pequeno aceno de cabeça que significava: faz-lhe a vontade. Ela quer mostrar-te uma habilidade.
— Quando eu voltar — disse Sherman a Campbell. — Tenho de sair, mas volto já.
— Papá! Campbell dava pulos, tentando meter-lhe as cartas pelos olhos dentro.
— Só um segundo, minha querida!
— Vais sair? — disse Judy. — Onde é que vais?
— Tenho de ir...
— PAPÁ! DIZ-ME — QUE-CARTAS-SÃO!
— ... a casa do Freddy Button.
— PAPÁ!
— Shhhhhhhh! — disse Judy. — Não fales tão alto.
— Papá... olha! — As três cartas dançavam no ar diante dos seus olhos.
— A casa do Freddy Button? Sabes que horas são? Temos de nos arranjar para sair!
— Diz-me que cartas são, papá!
Meu Deus! Tinha-se esquecido completamente! Iam jantar a casa daquela gente horrível, os Bavardages! O grupinho da Judy... as radiografias mundanas... Hoje à noite? Impossível!
— Não sei, Judy. Eu... não sei quanto tempo vou ter de passar em casa do Freddy. Tenho muita pena, mas...
— Não sabes? Não sabes como?
— PAPÁ! — À beira das lágrimas, na sua frustração.
— Por amor de Deus, Sherman, olha lá para as cartas!
— Não digas «por amor de Deus», mamã.
— Tens toda a razão, Campbell. Não devia ter dito isso. Ele inclinou-se e olhou para as cartas. — Bom... é o ás de
copas... o ás de espadas... e o ás de ouros.
— Tens a certeza?
— Tenho.
Um grande sorriso. Triunfante. — Agora, abano-as assim. — Começou a sacudir as cartas, muito depressa, até não serem mais que uma mancha indistinta no ar.
— Sherman, não vais ter tempo para ir a casa do Freddy Button. — Uma expressão que significava: «É assim e é assim mesmo.»
— Judy, eu preciso de lá ir. — Revirando os olhos na direcção da biblioteca, como que para lhe dizer: «Vamos para ali, que eu explico-te.»
— Bibidi, bobidi, bu! — disse Campbell. — Agora olha, Papá!
E Judy, controlando a sua voz com rédea curta: — Nós vamos... a-este-jantar.
Sherman tornou a curvar-se. — O ás de ouros, o ás de copas... o ás de... paus!Caramba, Campbell! Como é que aí apareceu o ás de paus?
Encantada. — Apareceu, pronto!
— Mas isso é magia!
— Sherman...:
— Como é que fizeste isso? É incrível!
— Sherman, estás a ouvir?
E Campbell, com toda a modéstia: — O ilusionistamostrou-me.
— Ah! O ilusionista. Que ilusionista?
— Na festa de anos da MacKenzie.
— É fantástico!
— Sherman, olha para mim. Olhou para ela.
— Papá! Queres ver como é que eu fiz?
— Sherman. — Outra vez a mesma expressão decidida:«É assim e é assim mesmo.»
— Olha, papá, vou-te mostrar.
Judy, com uma doçura exasperada: — Campbell, sabesquem é que adora truques de magia?
— Quem?
— A Bonita. Gosta imenso dessas coisas. Porque é que não lhe vais mostrar antes que ela comece a tratar do teu jantar? Depois voltas e mostras ao papá como é que fizeste.
— Oh, está bem. — Encaminhou-se desconsoladamente para a cozinha. Sherman sentiu-se culpado.
— Anda aqui para a biblioteca — disse a Judy num tom solene.
Entraram na biblioteca, ele fechou a porta e disse a Judy para se sentar. «É melhor não estares de pé quando ouvires do que se trata». Ela sentou-se na poltrona de orelhas, e ele no outro cadeirão.
— Judy, lembras-te daquela coisa na televisão ontem à noite, acerca de um atropelamento e fuga no Bronx? Lembras-te de eles dizerem que andavam à procura de um Mercedes com a matrícula começada por R?
— Lembro.
— Pois bem, apareceram cá em casa dois polícias, pouco antes de tu chegares com a Campbell. Dois detectives, que me fizeram uma data de perguntas.
— Ah, sim?
Fez um relato do interrogatório, tentando apresentá-lo como uma ameaça terrível — preciso de ir falar com o Freddy Button! — mas sem referir os seus próprios sentimentos de desconforto, de medo e de culpa.
— Portanto telefonei ao Freddy, só que ele ainda não tinha chegado; mas estavam à espera dele. Por isso vou lá a casa deixar-lhe este bilhete — levou a mão ao peito, como se tivesse uma carta no bolso interior do casaco — e se ele já lá estiver quando eu lá chegar, falo logo com ele. Por isso é melhor ir andando.
Judy ficou um momento a olhar para ele. — Sherman, isso não tem pés nem cabeça. — Disse isto num tom quase
caloroso, com um sorrisinho, como se estivesse a tentar convencer alguém a afastar-se da beirinha do telhado. — Não te vão meter na cadeia por causa de metade de uma matrícula. Vi um artigo sobre esse caso no Times hoje de manhã. Parece que há 2500 Mercedes com matrículas começadas por R. Até nos rimos um bocado a propósito disso ao almoço, a Kate di Ducci e eu. Almoçámos no La Boue dArgent. O que é que te preocupa? Com certeza não foste passear de carro para o Bronx nessa noite, nem outra noite qualquer!
Agora!... Conta-lhe!... Tira este horrível peso do peito, de uma vez por todas! Deixa tudo em pratos limpos! Com um sentimento próximo da euforia, escalou os últimos metros do grande muro de mentiras que erguera entre si próprio e a sua família, e...
— Bom... é claro que não. Mas eles comportaram-se como se não acreditassem em mim.
... recuou imediatamente.
— tenho a certeza que isso é imaginação tua, Sherman. Provavelmente, é sempre assim que eles se comportam. Por amor de Deus! Se queres falar com o Freddy, tens tempo de sobra amanhã de manhã.
— Não! A sério! Tenho mesmo que lá ir.
— E ter uma longa conversa com ele, se necessário.
— Bom, sim, se for necessário.
Ela sorriu de uma maneira que não agradou a Sherman. Depois abanou a cabeça. Continuava a sorrir. — Sherman, já aceitámos este convite há cinco semanas. Temos de lá estar daqui a uma hora e meia. E eu vou. E tu também vais. Se quiseres deixar o número dos Bavardages para o Freddy te telefonar, está muito bem. Tenho a certeza que a Inês e o Leon não se importam. Mas vamos a este jantar.
Continuou a sorrir calorosamente... com os olhos fitos no tecto... e é assim mesmo.
A calma... o sorriso... aquele arremedo de bom humor... A expressão do rosto dela dava o assunto por encerrado, mais firmemente do que o teria feito qualquer explicação verbal. As palavras poderiam ter deixado alguma aberta por onde ele se pudesse esgueirar. Aquela expressão não deixava aberta nenhuma. O jantar em casa de Inês e Leon Bavardage era tão importante para Judy como o fora para ele a Giscard. Os Bavardages eram nesse ano os anfitriões do século, os mais activos e ruidosos de todos os novos ricos. Leon Bavard
g era um comerciante de chicória de Nova Orleães que fizera fortuna no ramo imobiliário. A sua mulher, Inês, talvez fosse realmente de uma velha família da Luisiana, os Belairs. Para Sherman (o aristocrata) eram ambos ridículos.
Judy sorria — e nunca na sua vida falara mais a sério.
Mas ele tinha de falar com Maria!
Levantou-se de um salto. — Está bem, vamos... mas eu tenho de dar um pulo a casa do Freddy! Não demoro nada!
— Sherman!
— Prometo! Volto já!
Atravessou praticamente a correr o pavimento de mármore verde-escuro do átrio de entrada. Quase receava que ela viesse a correr atrás dele e o puxasse outra vez para dentro de casa, enquanto esperava o elevador.
Lá em baixo, Eddie, o porteiro, disse: — Boa noite, Mr. McCoy — e ficou a olhar para ele com uma cara que parecia dizer: «E porque é que os polícias vieram falar consigo?»
— Boa noite, Eddie — disse ele, sem sequer olhar para o outro. Começou a subir a Park Avenue.
Chegado à esquina, precipitou-se para a fatídica cabina telefónica.
Atentamente, muito atentamente, marcou o número de Maria. Primeiro, o do esconderijo. Ninguém atendeu. Depois o do apartamento da Quinta Avenida. Uma voz espanhola respondeu que Mrs. Ruskin não podia vir ao telefone. Bolas! Devia dizer que era urgente? Mas o velho, o marido, Arthur, podia muito bem estar em casa. Disse que tornava a telefonar.
Tinha de deixar passar algum tempo para tornar plausível a sua afirmação de que ia a casa de Freddy Button deixar um bilhete. Continuou a andar, até à Madison Avenue... ao Museu Whitney... ao Hotel Caríyle... Três homens saíram da porta do Café Carlyle. Eram mais ou menos da idade de Sherman. Conversavam e riam, de cabeça deitada para trás, alegremente embriagados... Todos os três levavam pastas, e dois deles vestiam fatos escuros, camisas brancas e gravatas amarelo-pálido com discretos motivos estampados. Aquelas gravatas amarelo-pálido tinham-se transformado na insígnia das abelhas obreiras do mundo dos negócios... Que motivo tinham eles para estarem assim a rir e a folgar, para além da névoa alcoólica que lhes toldava o cérebro, pobres vítimas de uma ilusão...
Experimentava o ressentimento daqueles que descobrem que, apesar da gravidade da situação em que se encontram, o mundo continua a girar, impiedosamente, sem o menor sinal de compaixão.
Quando voltou a casa, Judy estava no andar de cima na suite do casal.
— Estás a ver? Não demorei assim tanto! — disse Parecia estar à espera de um prémio por ter cumprido a sua palavra.
Antes de ela responder teve tempo de pensar em vários comentários possíveis. Mas o que acabou por dizer foi o seguinte: — Temos menos de uma hora, Sherman. Agora anda, faz-me um favor. Veste aquele fato azul que mandaste fazer o ano passado, o azul-escuro. «Azul-meia-noite» acho que é como se diz. E uma gravata lisa, nada desses estampados Aquela azul, de crepe da china. Ou então uma aos quadradinhos, também pode ser. Essas ficam-te bastante bem.
Pode ser uma aos quadradinhos... Invadiu-o o desespero e uma enorme sensação de culpa. Eles começavam a montar-lhe o cerco e mesmo assim não tivera a coragem de contar a Judy. Ela ainda julgava que podia dar-se ao luxo inestimável de pensar na escolha da gravata certa
15 - A Máscara da Morte Vermelha
Sherman e Judy chegaram ao prédio dos Bavardages (1), na Quinta Avenida, num Buick preto conduzido por um motorista de cabelos brancos, alugado por aquela noite à companhia Mayfair Town Car, Inc. Viviam apenas a seis quarteirões da casa dos Bavardages, mas estava fora de questão vir a pé. Para começar, havia o vestido de Judy. Deixava-lhe os ombros nus mas tinha mangas curtas, tufadas, do tamanho de lanternas chinesas, que lhe cobriam a parte superior dos braços. O corpo do vestido era justo, mas a saia rodada tinha uma forma que fazia lembrar a Sherman um aeróstato. O convite para o jantar dizia: «trajo informal». Mas neste ano, como tout le monde sabia, as mulheres vestiam-se de uma maneira muito mais extravagante para os jantares informais em apartamentos de luxo do que para...
(1) O nome dos anfitriões da festa, que em francês significa «tagarelice», «conversa prolixa e fútil», pode ser interpretado como uma alusão à sua superficialidade mundana; do mesmo modo, também os nomes de alguns dos outros convivas têm um segundo sentido relacionado com as suas características físicas ou psicológicas: o escritor Nunnally VoydfvoWsignifica «oco, vazio, fútil»), Mrs. Rawthrote (raw throat, que neste contexto se poderia traduzir livremente por «mal educada» ou «má-língua»), Lord Gutt (gut quer dizer «estômago, pança»), M. Prudhomme (nome de uma personagem de caricatura francesa que simboliza o burguês sentencioso e satisfeito consigo mesmo), etc.
Aliás, também nos apelidos do protagonista e no do repórter do City Light se Poderá ver um segundo sentido, uma vez que coy significa «reservado, pudico, timorato» efallow «improdutivo, desleixado». (N. do T.)
...bailes formais em grandes salões. Fosse como fosse, Judy não podia descer a rua com aquele vestido. Um ventinho de cinco milhas por hora, desde que a apanhasse de frente, impedi-la-ia, pura e simplesmente, de avançar.
E havia um motivo ainda mais sério para alugar um carro com motorista. Não teria nada de inconveniente chegarem de táxi a um jantar num dos prédios «Bem» da Quinta Avenida, e a corrida ficar-lhes-ia por menos de três dólares. Mas nesse caso o que é que faziam no fim da festa? Como é que podiam sair do prédio dos Bavardages e deixar que toda a gente, tout le monde, os visse especados no meio da rua, os McCoys, aquele casal tão elegante, de braço no ar, tentando corajosamente, desesperadamente, pateticamente apanhar um táxi? Os porteiros não poderiam ajudá-los, porque estariam ocupados a conduzir tout le monde às respectivas limousines. Por isso Sherman alugara aquele carro com motorista, um motorista de cabelos brancos que percorreria aqueles seis quarteirões, esperaria três horas e meia ou quatro horas para depois fazer o percurso inverso e ir-se embora. Contando com uma gorjeta de 15 por cento e com os impostos, a brincadeira ficar-lhes-ia em 197 dólares e 20 cêntimos ou em 246 dólares e 50 cêntimos, conforme tivessem de pagar quatro ou cinco horas ao todo.
Uma hemorragia de dinheiro! E teria ele ainda, ao menos, o seu emprego? Um medo terrível... Lopwitz... Lopwitz não ia despedi-lo, com certeza... por causa de três míseros dias... e 6milhões de dólares, meu palerma!... Tenho de começar a cortar nas despesas... amanhã... Esta noite, evidentemente, era indispensável ter um carro e um motorista.
Para tornar as coisas ainda piores, o motorista não pôde encostar ao passeio diante da entrada, porque havia demasiadas limousines paradas em frente à porta. Teve de estacionar em segunda fila. Sherman e Judy tiveram de abrir caminho pelo meio das limousines... Inveja... inveja... Pelas placas de matrícula, Sherman via que aquelas limousines não eram alugadas. Eram propriedade daqueles cujos corpos lustrosos eram por elas transportados até ali. Um motorista, um bom motorista disposto a trabalhar muitas horas por dia, até tarde, custava, no mínimo, 36000 dólares por ano; um lugar numa garagem, a manutenção, e o seguro, custavam pelo menos mais 14000; um total de 50000 dólares, não sujeitos a deduções. Eu ganho um milhão de dólares por ano — e mesmo assim não me posso dar a esse luxo!
Chegou finalmente ao passeio. O quê? Ali, do lado esquerdo, na penumbra, uma figura — um fotógrafo ! — ali, a dois passos...
Sentiu invadi-lo uma vaga de puro terror.
A minha fotografia no jornal!
O outro rapaz, o grandalhão, o brutamontes, vê-a e resolve ir à Polícia!
A Polícia! Os dois detectives! O gordo! O da cara torta! Com que então, este McCoy vai às festas dos Bavardages, hein? Então é que eles vão começar a sentir o cheiro da caça!
Horrorizado, torna a olhar para o fotógrafo...
... e descobre que é apenas um jovem a passear o seu cão. O rapaz parou perto do toldo que conduz à entrada do prédio... Nem sequer está a olhar para Sherman... parece mais interessado num casal que se encaminha para a porta... um velho de fato escuro e uma jovem loura de minissaia.
«Acalma-te, por amor de Deus! Não percas a cabeça! Não sejas paranóico!»
Mas continua a soar-lhe aos ouvidos uma voz escarninha, insolente: Tem a certeza que não quer desabafar connosco ?
Agora Sherman e Judy estavam também já debaixo do toldo, apenas três ou quatro passos atrás do velho e da loura, muito próximo da entrada. Um porteiro de peitilho branco engomado abriu-lhes a porta. Tinha calçadas luvas brancas, de algodão. A loura entrou primeiro. O velho, não muito mais alto que ela, tinha um ar ensonado e tristonho. O seu cabelo grisalho, já ralo, estava penteado para trás. Tinha um nariz grande e pálpebras descaídas, como os índios dos filmes. Espera aí... eu conheço-o... Não, não o conhecia, mas já o tinha visto nalgum lado... Onde?... Já sei!... Numa fotografia, claro... Era o barão Hochswald, o financeiro alemão. Era só o que faltava a Sherman, e logo naquela noite... Depois das catástrofes dos três últimos dias, num ponto perigosamente baixo da sua carreira na Wall Street, cruzar-se com aquele homem, cujo sucesso era tão completo, tão permanente, cuja riqueza era tão imensa e tão segura — dar com os olhos naquele velho alemão de uma solidez tão inabalável...
Talvez o barão vivesse, simplesmente, naquele prédio... por favor, meu Deus, não permitais que ele vá ao mesmo jantar que nós...
Nesse preciso instante ouviu o barão dizer ao porteiro, com um forte sotaque europeu: «Bavardage». A luva branca do porteiro apontou para o fundo do átrio.
Sherman desesperou. Desesperou daquela noite e da vida inteira. Porque é que não se tinha mudado para Knox-ville seis meses atrás? Uma casinha georgiana, uma máquina de cortar relva, uma rede de badminton para Campbell, nas traseiras... Mas não! Tinha de seguir os passos daquele alemão de olhos cor de avelã, em direcção ao apartamento de um casal insuportavelmente vulgar de nome Bavardage, um caixeiro-viajante bem sucedido na vida e sua mulher.
Sherman disse ao porteiro: — Os Bavardages, por favor. — Acentuou especialmente a última sílaba, para que ninguém ficasse a pensar que ele prestara atenção ao facto de aquele aristocrata, o barão Hochswald, ter acabado de dizer a mesma coisa. O barão, a loura, Judy e Sherman encaminharam-se para o elevador. Este era revestido de mogno antigo. A superfície apainelada reluzia. O grão da madeira era vistoso mas rico e suave. Ao entrar, Sherman ouviu o barão Hochswald dizer o nome Bavardage ao ascensorista. Por isso repetiu, como fizera com o porteiro: — Os Bavardages —, não fosse o barão pensar que ele, Sherman, dera pela sua presença.
Agora os quatro sabiam que iam ao mesmo jantar, e tinham de tomar uma decisão. Iam tomar a atitude amável, cordial e bem americana — a atitude que tomariam sem hesitar no elevador de um prédio semelhante na Beacon Hill ou no Rittenhouse Square — ou mesmo num prédio de Nova Iorque, se a festa fosse dada por alguém de boas e velhas famílias, como Rawlie ou Pollard (comparado com os anfitriões dessa noite, Pollard parecia de repente uma pessoa como deve ser, um velho aristocrata perfeitamente recomendável) — iam tomar essa atitude simpática, sorrir e apresentar-se uns aos outros... ou decidiam-se pela atitude malcriada dos snobs, deixando-se ficar muito quietos a fingir que ignoravam o seu destino comum, de olhos fixos na nuca do ascensorista enquanto a cabina de mogno subia lentamente no poço do elevador?
Sherman lançou um olhar exploratório a Hochswald e à loura. O vestido dela era uma espécie de cilindro preto que terminava várias polegadas acima do joelho, cingindo-lhe as coxas opulentas e o declive lúbrico do baixo ventre, e era encimado por um folho que parecia a corola de uma flor. Meu Deus, como aquela mulher era sexy! Os seus ombros brancos, leitosos, e a parte visível dos seios transmitiam a impressão de que ela estava morta por tirar o vestido e desatar a correr, toda nua, por entre as begónias... Tinha o cabelo louro penteado para trás, revelando um par de enormes brincos de rubis... Não devia ter mais de vinte e cinco anos... Um pedaço de mulher! Um animal cheio de vida!... O velho sacana tinha deitado a mão ao que mais lhe agradava!... Hochswald envergava um fato preto de sarja, uma camisa branca de grande colarinho e uma gravata preta de seda com um nó volumoso, quase exagerado... mas tudo do mais perfeito bom gosto... Sherman ficou satisfeito por Judy lhe ter recomendado que vestisse o fato e a gravata azul... Apesar disso, o trajo do barão ainda parecia, comparado com o dele, muitíssimo elegante.
Reparou então que o velho alemão os examinava, a ele e a Judy, dos pés à cabeça. Os olhares de ambos cruzaram-se por um brevíssimo instante. Depois voltaram os dois a fitar as guarnições da gola do ascensorista.
E assim subiram, um ascensorista e quatro surdos-mudos mundanos, até um dos andares superiores do prédio. A resposta, afinal, era: tinham escolhido a atitude malcriada dos snobs.
O elevador parou, e os quatro surdos-mudos saíram para o vestíbulo dos Bavardages. Este era iluminado por dois cachos de lâmpadas resguardadas por pequenos abajures de seda, um de cada lado de um espelho de moldura dourada. Havia uma porta aberta... um clarão suave, rosado... um burburinho de vozes animadas...
Transpuseram a porta, entrando no átrio do apartamento. Que vozes! Que animação! Que risos! Sherman estava à beira da catástrofe na sua carreira e no seu casamento — a Polícia rondava-lhe a porta — e, no entanto, aquela quantidade de gente reunida... as ondas sonoras emitidas por toda aquela gente faziam-no vibrar até às entranhas. Rostos com dentaduras risonhas, cintilantes, palpitantes! Como somos fabulosos e afortunados, nós, os eleitos, por estarmos aqui no alto com todas estas luzes radiosas, encarnadas!
O átrio era mais pequeno que o de Sherman, mas enquanto o dele (concebido pela mulher, a decoradora de interiores) era imponente e solene, este era ofuscante, efervescente. As paredes estavam forradas de uma seda brilhante, vermelho-da-china; a seda era enquadrada por uma estreita moldura dourada, e a moldura dourada por um debrum largo, de um tecido cor de ferrugem, por sua vez rematado por mais molduras douradas; a luz de uma fila de candeeiros de latão fazia brilhar os dourados, e o brilho dos dourados e da seda vermelha tornava ainda mais resplande-Centes os rostos risonhos e os vestidos lustrosos.
Examinou a multidão e sentiu imediatamente que aquelas pessoas tinham alguma coisa em comum... presque vu!, presque vu!, quase visto!... e, no entanto, não era nada que ele conseguisse exprimir por palavras. As suas capacidades não chegavam para tanto. Todos os homens e mulheres reunidos naquele átrio se distribuíam por grupinhos, pequenos ramalhetes de conversadores, por assim dizer. Não havia figuras solitárias, ovelhas tresmalhadas. Todos os rostos eram brancos. (Podiam aparecer, ocasionalmente, rostos negros nos jantares elegantes de beneficiência, mas não nas casas particulares elegantes.) Não havia homens com menos de trinta e cinco anos, e muito poucos com menos de quarenta. As mulheres dividiam-se em duas variedades. Em primeiro lugar, havia as mulheres de trinta e muitos, quarenta ou mais anos (mulheres «de uma certa idade»), todas elas pele e ossos (esfomeadas até quase atingirem a perfeição). Para compensar a sensualidade que faltava às suas costelas ressequidas e costas atrofiadas, recorriam aos costureiros. Neste ano, nenhuns chumaços, folhos, pregas, franzidos, babados, laços, acolchoados, recortes, rendas, costuras em viés eram considerados excessivos. Eram as radiografias mundanas, para usar a expressão que viera à cabeça do próprio Sherman. Em segundo lugar, havia as chamadas «tartes de limão» (1). Estas eram mulheres de vinte e tal ou trinta e poucos anos, quase sempre louras (o limão das tartes), segundas, terceiras, quartas esposas ou amantes de homens com mais de quarenta, cinquenta, sessenta ou mesmo setenta anos; em suma, o tipo de mulheres a que os homens se referem quase inconscientemente como raparigas. Neste ano a tarte podia ostentar as vantagens naturais da juventude mostrando as pernas até bem acima do joelho e fazendo sobressair o seu traseiro redondo (coisa que nenhuma radiografia mundana possuía). O que faltava por completo chez Bavardage era esse tipo de mulher que não é nem muito velha nem muito nova, que já começou a criar uma camada de gordura subcutânea, cujo rosto corado e rechonchudo fala eloquentemente, sem dizer uma palavra, acerca da casa, do fogão, do jantar pronto às seis, de histórias lidas em voz alta e conversas com os filhos, sentada na beira da cama, enquanto não chega o João Pestana. Ou seja: nunca ninguém convidava... a Mãe.
(1) Trocadilho intraduzível. Além do sentido próprio, a palavra inglesa tari significa prostituta. (N. do T.)
A atenção de Sherman concentrou-se num ramalhete de rostos animados, extáticos, até que se encontrava no primeiro plano do seu ângulo de visão. Dois homens e uma mulher impecavelmente emaciada sorriam para um jovem corpulento de cabelo louro pálido, formando um topete acima da testa... Já o vi nalgum lado... mas quem éele?... Já sei!- Mais uma cara dos jornais... A Voz das Montanhas, Tenor dos Cabelos de Ouro... Era assim que lhe chamavam... O seu nome era Bobby Shaflett. Era o novo tenor residente da Metropolitan Opera, uma criatura gordíssima que viera não se sabia bem de onde, lá dos confins dos Apalaches... Quase não se podia ler um jornal ou uma revista sem se ver aquela cara. Enquanto Sherman o olhava, a boca do jovem cantor escancarou-se. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho, soltou uma série de gargalhadas rústicas, bem sonoras, e os rostos sorridentes à sua volta ficaram ainda mais radiosos, mais enlevados do que antes.
Sherman ergueu o seu queixo de Yale, endireitou os ombros e as costas, retomando toda a imponência da sua estatura, e assumiu a presença, a presença de uma Nova Iorque mais antiga e mais requintada, a Nova Iorque do seu pai, o Leão da Dunning Sponget.
Um mordomo materializou-se ao lado de Judy e Sherman e perguntou-lhes o que queriam beber. Judy pediu gasosa. (Dizer «Perrier» ou o nome de qualquer outra marca tornara-se demasiado banal.) Sherman não tencionava beber nada. Tencionava manter-se o mais distante possível em relação a tudo o que se relacionasse com aquela gente, aqueles Bavardages, a começar pelas bebidas deles. Mas agora a multidão envolvia-o, e o topete louro da Voz das Montanhas invadia-lhe o campo de visão.
— Um gin tónico — disse Sherman McCoy, do alto do seu queixo.
Uma mulherzinha enérgica e ossuda surgiu do meio dos vários grupinhos e dirigiu-se para eles. Era uma radiografia com o cabelo louro frisado cortado à pajem e uma fila de dentes minúsculos e risonhos. O seu corpo magro estava enfiado num vestido vermelho e preto com ombros ferozmente enchumaçados, uma cintura muito justa e saia comprida. O seu rosto era largo e redondo — mas despojado da menor partícula de carne. Tinha a pele do pescoço muito mais repuxada que a de Judy. As suas clavículas eram tão salientes que Sherman teve a sensação de que poderia esten-der a mão e separar do resto do seu corpo os dois grandes ossos. A luz atravessava-lhe a caixa toráxica.
— Querida Judy!
— Inês! — disse Judy, e as duas mulheres beijaram-se, ou melhor, tocaram com as faces uma na outra, primeiro deste lado, depois daquele lado, à maneira europeia, costume que Sherman, na qualidade de filho desse pilar da aristocracia, desse patriarca das velhas famílias, desse severo censor anglicano dos excessos do luxo, John Campbell McCoy, considerava pretensioso e de mau gosto.
— Inês! Ainda não conhece o Sherman, pois não? — Subiu o tom de voz até à exclamação, de modo a fazer-se ouvir acima do burburinho. — Sherman, esta é a Inês Bavar-dage!
— Muito prazer — disse o herdeiro do Leão.
— Não conheço, mas é quase como se conhecesse! — disse a mulher, olhando-o bem nos olhos, exibindo os seus dentinhos cintilantes e estendendo-lhe a mão. Vencido, Sherman apertou-a. — Devia ouvir o Gene Lopwitz a falar de si! — Lopwitz? Quando? Sherman deu por si a agarrar-se àquele filão de esperança. (Talvez ele tivesse acumulado tantos pontos positivos no passado que o fracasso da Giscard não acabasse com ele!) — E também conheço o seu pai. Tenho um medo horrível dele! — Ao dizer isto, a mulher agarrou o antebraço de Sherman, cravou os olhos nos dele e desatou a rir, um riso extraordinário, de gargalhadas roucas, que não soava ha ha ha ha, mas sim hack hack hack hack hack hack hack hack hack, um riso tão convicto, traduzindo um tal paroxismo de entusiasmo, que Sherman deu por si a sorrir tolamente e a dizer:
— Não me diga!
— A sério! — Hack hack hack hack hack hack hack!— Acho que nunca lhe contei isto, Judy! — Estendeu a mão, enfiou um braço no de Judy e o outro no de Sherman e puxou-os a ambos para si, como se eles fossem os mais queridos de todos os seus amigos. — Uma vez um homem horrível chamado Derderian resolveu pôr um processo ao Leon. E não o deixava em paz. Uma autêntica perseguição. Então, fomos passar um fim de semana na ilha de Santa Catalina, em casa do Angie Civelli. — Pronunciou o nome do célebre actor sem o menor vestígio de ênfase. — Um dia, ao jantar, o Leon começou a falar dos problemas que estava a ter com o tal Derderian, e o Angie disse — com toda a seriedade, podem crer! — disse: «Quer que eu lhe resolva o assunto?» — Ao dizer isto, Inês Bavardage empurrou o nariz para o lado com o indicador, aludindo aos Narizes Tortos (1).
-Quer dizer, já me tinham dito que o Angie estava metido
nessas coisas, só que eu na altura não acreditei... mas ele estava mesmo a falar a sério! — Hack hack hack hack hack hack hack hack! Puxou Sherman ainda mais para si e tornou a fitá-lo intensamente. — Quando o Leon voltou a Nova Iorque, foi falar com o seu pai, contou-lhe o que o Angie lhe tinha dito, e disse ao seu pai: «Talvez seja a maneira mais simples de resolver o problema». Nunca me hei-de esquecer da resposta do seu pai. Ele disse: «Não, Mr. Bavardage, deixe-me ser eu a tratar do caso. Não vai ser simples, não vai ser rápido, e vai-lhe custar muito dinheiro. Mas a minha conta pode o senhor pagar. Para pagar aos outros, não há fortuna que chegue. Hão-de continuar a cobrar-lhe até ao fim da vida».
Inês Bavardage deixou-se ficar com o rosto quase colado ao de Sherman e lançou-lhe um olhar de uma profundidade abissal. Ele sentiu-se obrigado a dizer alguma coisa.
— Bom... e o que fez o seu marido?
— O que o seu pai lhe aconselhou, claro. Quando ele falava... as pessoas até saltavam! — Mais uma salva de gargalhadas, hack hack hack hack!
— E a conta? — perguntou Judy, parecendo deliciada por ouvir aquela história acerca do incomparável pai de Sherman.
— Foi sensacional! Verdadeiramente espantosa, a conta! — Hack hack hack hack! O Vesúvio, o Krakatoa e o Mauna Loa entraram simultaneamente numa erupção de riso, e Sherman sentiu-se arrastado pela explosão, apesar de toda a sua má vontade. Era irresistível! — o Gene Lopwitz gosta imenso de si! — o seu incomparável pai! — a sua linhagem aristocrática! — a euforia que tudo isso desperta no meu peito!
Sabia que aquilo era irracional, mas sentiu-se feliz, embriagado, eufórico, no Sétimo Céu. Tornou a enfiar no coldre o revólver do seu Ressentimento e disse ao seu Sno-bismo que fosse dar uma volta. Afinal, era uma mulher encantadora! Quem diria, depois de tudo o que ouvira acerca dos Bavardages! Era uma radiografia mundana, claro, mas isso não era motivo que se pudesse invocar para a criticar! realmente muito simpática — e bastante divertida!
Como a maioria dos homens, Sherman conservava toda a sua inocência no capítulo das técnicas de cumprimentar da...
(1) Ou seja, a Mafia. (N. do T.)
...anfitriã elegante. Durante quarenta e cinco segundos, no mínimo, cada convidado era o amigo mais querido, mais íntimo, mais divertido, mais espirituoso e mais cúmplice que essa mulher já conheceu. A anfitriã tocava no braço de todos os convidados do sexo masculino (uma vez que todas as outras partes do corpo levantavam os seus problemas), e apertava-lho com a mais sincera das amizades. Todos os convidados, homens e mulheres, eram olhados fixamente, como se a tivessem cativado (com a sua desenvoltura, o seu espírito, a sua beleza, e as incomparáveis recordações que lhe despertavam).
O mordomo voltou com as bebidas de Sherman e Judy e Sherman bebeu um grande gole de gin tónico; o gin foi ao fundo, o suave aroma do zimbro veio à superfície, e ele descontraiu-se e deixou que o alegre zumbido da colmeia lhe invadisse o cérebro.
Hack hack hack hack hack hack hack, fazia Inês Bavardage.
Ho ho ho ho ho ho ho, fazia Bobby Shaflett.
Ha ha ha ha ha ha ha ha, fazia Judy.
He he he he he he he he, fazia Sherman.
A colmeia zumbia, zumbia, zumbia.
Em menos de um credo, Inês Bavardage encaminhou-os, a ele e a Judy, para o ramalhete onde pontificava a Voz das Montanhas. Acenos de cabeça, cumprimentos, apertos de mão, sob a égide da nova melhor amiga de Sherman, Inês. Antes que ele se desse conta do que acontecera, já Inês conduzira Judy para fora do átrio de entrada, para um outro salão qualquer, deixando Sherman na companhia do célebre e gordo rapaz dos Apalaches, de dois outros homens e de uma radiografia. Fitou-os um a um, começando por Shaflett. Nenhum deles lhe devolveu o olhar. Os dois homens e a mulher fitavam, extasiados, a grande cabeça loura do tenor, que contava uma história passada num avião:
— ... e eu estava ali sentado à espera da Barbra... que devia voltar comigo para Nova Iorque? — Tinha uma maneira de rematar as frases declarativas com pontos de interrogação que fazia lembrar a Sherman a sua amiga Maria... Maria... e o descomunal judeu hassídico! O monte de banha que tinha à sua frente era como o animal enorme da companhia imobiliária — se é que era mesmo da imobiliária. Um estremecimento gelado... Eles andavam lá fora a rondar, a rondar... — Estava eu no meu lugar... tinha ficado com o lugar do lado da janela? E então veio lá do fundo um negro com um aspecto perfeitamente in-con-ce-bí-vel. — O modo como martelou as sílabas da última palavra e agitou as mãos no ar levou Sherman a perguntar-se se aquele gigante das montanhas não seria afinal um homossexual. — Trazia vestido um sobretudo de arminho?... até aqui?... e um chapéu de arminho a condizer?... e tinha ainda mais anéis do que Bar-bra, e vinham com ele mais três outros negros?...
O gigante continuava a falar, muito animado, e os dois homens e a mulher não desfitavam os olhos da sua grande cara redonda, conservando os três o seu sorriso inalterável; o gigante, pelo seu lado, só olhava para eles, nunca para Sherman. À medida que os segundos iam passando, tomava uma consciência cada vez mais aguda de que os outros quatro se comportavam como se ele não existisse. Um gigante maricas com sotaque dos Apalaches, pensava Sherman, e aqueles três pareciam suspensos de cada uma das suas palavras. Sherman bebeu mais três grandes goles do seu gin.
A história parecia girar em torno do facto de o imponente negro que se sentara ao lado de Shaflett no avião ser o campeão do mundo de pesos-pluma, Sam Assinore (conhecido por Sam Assassino). Shaflett achava o termo «peso-pluma» imensamente divertido — hohohoho hoho! — e os dois homens soltaram uma série de guinchinhos de riso. Sherman rotulou-os também de homossexuais. O Sam Assassino não sabia quem era Shaflett, e Shaflett não sabia quem era o Sam Assassino. Aparentemente, o interesse da história era que as únicas pessoas na primeira classe do avião que não sabiam quem eram estas duas celebridades... eram o próprio Shaflett e Assinore! Hoho hoho hoho hoho — hihi hi hi hi hi hi — e — aha! — veio à cabeça de Sherman uma pepita de informação utilizável na conversa, acerca de Sam «Assassino» Assinore. Oscar Suder — Oscar Suder!— estremeceu ante as recordações que aquele nome despertava, mas continuou — Oscar Suder fazia parte de um grupo de investidores do Midwest que apoiava Assinore e controlava as suas finanças. Uma pepita! Uma pepita utilizável na conversa! Um meio de entrar naquele grupinho!
Assim que o riso abrandou, Sherman disse a Bobby Shaflett: — Sabia que o contrato de Assinore, e provavelmente também o casaco de arminho, é propriedade de uma associação de homens de negócios do Ohio, principalmente de Cleveland e Columbus?
A Voz das Montanhas olhou para Sherman como se ele tosse um pedinte. — Hmmmmmmmmm! — foi a sua resPosta. Era o hmmmmm que significava: «Estou a ver, mas isso não me interessa absolutamente nada». E, logo de seguida, virou-se para os outros e disse: — Então pedi-lhe para autografar o meu menu. Sabem, aquele menu que dão nos aviões?... e...
Aquilo foi de mais para Sherman McCoy. Tornou a tirar do coldre o revólver do Ressentimento. Afastou-se do grupo, virando-lhe as costas. Ninguém deu por isso. O burburinho da multidão ecoava-lhe na cabeça.
E agora, o que ia fazer? De repente, via-se sozinho naquela colmeia ruidosa, sem nenhum lugar onde se encaixar. Sozinho! Tinha a consciência aguda de que a festa se compunha agora exclusivamente daqueles ramalhetes, e de que não pertencer a nenhum deles era ser um falhado social incompetente e abjecto. Olhou para um lado e para o outro. Quem era aquele ali? Um homem alto, atraente, com um ar afectado... rostos cheios de admiração voltados para o seu... Ah!... Já sabia... um escritor... Chamava-se Nunnally Voyd... um romancista... tinha-o visto num programa de televisão... pretensioso, azedo... Olha como aqueles idiotas o idolatram... Não se atrevia a experimentar aquele ramalhete... Seria uma reedição do que acontecera com a Voz das Montanhas, com toda a certeza... Ali adiante, uma pessoa que ele conhecia... Não! Mais uma cara famosa... o bailarino... Boris Korolev... Outro círculo de rostos adoradores... cheios de enlevo... Idiotas! Farrapos humanos! Que história é esta de se prosternar diante de bailarinos, romancistas, e cantores de ópera gigantescos e maricas? Eles não passam de bobos da corte encarregados de distrair... os Senhores do Universo, os que comandam as alavancas que fazem girar o mundo... e, no entanto, estes idiotas veneram-nos como se estar perto deles fosse o mesmo que estar próximo de Deus... Nem sequer queriam saber quem ele era... e nem seriam capazes de perceber, mesmo que quisessem...
Estava agora ao pé de mais um grupinho... Bom, pelo menos neste não havia nenhuma celebridade, nenhum bobo da corte a sorrir com um ar afectado... Quem falava era um homem gordo e vermelhusco, com um forte sotaque inglês: — E ele estava estendido na estrada, com uma perna partida, estão a ver... — O rapaz magro e delicado! Henry Lambi Estavam a falar da história do jornal! Mas espera aí— uma perna partida... —... e não parava de dizer: «Que grande maçada, que grande maçada». — Não, afinal estava a falar de um inglês qualquer. Nada que me diga respeito... Os outros membros do grupinho riam... uma mulher dos seus cinquenta anos, com a cara coberta de pó-de-arroz cor-de-rosa... Que coisa grotesca... Espera!... Ele conhecia aquela cara. A filha daquele escultor, que agora era cenógrafa. Não se conseguia lembrar do nome... Já sabia... Barbara Cornag-glia... Passou adiante... Sozinho!... Apesar de tudo, apesar do facto de eles andarem a rondá-lo — a Polícia! — Sherman sentia o peso do insucesso mundano... O que é que havia de fazer para dar a impressão de que queria estar sozinho, de que era por vontade própria que andava isolado no meio da multidão? O zumbido da colmeia não diminuía de intensidade.
Próximo da porta por onde Judy e Inês Bavardage tinham desaparecido havia uma consola antiga sobre a qual se viam dois pequenos cavaletes chineses. Em cada um dos cavaletes havia um disco de veludo borgonha do tamanho de uma tarte, com ranhuras semelhantes a pequenos bolsos onde tinham sido enfiados cartões com nomes. Os dois círculos eram modelos da disposição dos lugares à mesa, para que cada convidado soubesse quem iam ser os seus vizinhos ao jantar. Para Sherman, a figura leonina de Yale, aquilo era mais uma prova de mau gosto. No entanto, pôs-se a olhar para os cartões. Era uma maneira de parecer ocupado, como se o facto de estar a estudar a disposição dos lugares fosse o único motivo para ele se encontrar sozinho.
Era evidente que as mesas seriam duas. Ao fim de alguns instantes descobriu o cartão que dizia Mr. McCoy. Ia ficar sentado ao lado de, vamos lá ver, uma tal Mrs. Rawthrote, que não fazia ideia quem fosse, e de uma Mrs. Ruskin. Ruskin! O seu coração deu um salto. Não podia ser — não podia ser Maria!
Mas é claro que podia. Aquele era precisamente o tipo de reunião para que a convidavam a ela e ao seu marido rico mas obscuro. Engoliu o resto do seu gin tónico e precipitou-se para a outra sala. Maria! Tinha de falar com ela! — mas também tinha de a manter afastada de Judy! «Sim, só me faltava que as duas se encontrassem!»
Encontrava-se agora na sala de estar do apartamento, ou melhor, no salão, uma vez que era óbvio que a divisão se destinava às recepções. Era enorme, mas parecia... atafulhada... de sofás, almofadas, cadeirões e divãs, todos eles guarnecidos de galões, de borlas, de fitas, de debruns... tudo atafulhado, tudo almofadado... Até as paredes; as paredes estavam forradas de uma espécie de tecido acolchoado às riscas vermelhas, púrpura e rosa. Guarneciam as janelas que davam para a Quinta Avenida pesadas cortinas do mesmo tecido, repuxadas de modo a deixar ver o forro cor-de-rosa e um galão multicor de seda entrançada. Não havia o menor vestígio do século xx em toda a decoração, nem mesmo na iluminação. A luz que reinava na sala provinha apenas de dois ou três candeeiros de mesa com abajures rosados, pelo que o solo daquele planetazinho tão gloriosamente atafulhado estava imerso numa obscuridade profunda, pontuada por um ou outro reflexo suave.
O enxame zumbia de puro êxtase por se encontrar naquele ambiente tão doce, tão róseo e tão aconchegado. Hack hack hack hack hack hack, elevou-se algures o som do riso cavalar de Inês Bavardage. Tantos ramalhetes de pessoas... rostos sorridentes... dentaduras palpitantes... Apareceu um mordomo a perguntar-lhe se queria uma bebida. Pediu outro gin tónico. Deixou-se ficar parado no mesmo sítio. Os seus olhos percorriam os recantos mais sombrios da sala.
Maria.
Estava junto de uma das duas janelas do canto. Ombros nus... um vestido vermelho... Ela viu-o e sorriu-lhe. Um simples sorriso, sem mais. Ele respondeu-lhe com um sorriso quase imperceptível. Onde estava Judy?
No grupo de Maria havia uma mulher que ele não conhecia, um homem que ele não conhecia, e um homem careca que já tinha visto nalgum lado, mais uma das... caras famosas que pareciam ser a especialidade daquele zoo... um escritor qualquer, um inglês... não se conseguia lembrar do nome dele. Completamente careca; nem um só cabelo na sua cabeça comprida e afilada; descarnada; um crânio.
Sherman perscrutou a sala, procurando desesperada-mente Judy com os olhos. Ora, que diferença fazia que Judy se encontrasse ali com uma pessoa chamada Maria? Não era um nome assim tão raro. Mas seria Maria ao menos discreta? Ela não era nenhum génio, e além disso tinha uma certa veia maldosa — e ia ficar sentada ao seu lado!
Sentia o coração pular-lhe no peito. Meu Deus! Seria possível que Inês Bavardage soubesse acerca deles os dois e os tivesse posto juntos de propósito? Espera aí! Isso é uma ideia completamente paranóica! Ela não ia correr o risco de provocar uma cena desagradável. Mesmo assim...
Judy.
Lá estava ela, ao pé da lareira, a rir tanto — o seu novo riso das festas — quer ser uma Inês Bavardage — a rir tanto que até o cabelo lhe abanava. O seu riso tinha agora um som diferente, hock hock hock hock hock hock hockl Ainda não era o hack hack hack hack de Inês Bavardage, mas apenas um hock hock hock hock de transição. Estava a ouvir o que dizia um velho entroncado de cabelo ralo e grisalho e sem pescoço. O terceiro elemento do ramalhete, uma mulher, elegante, magra, dos seus quarenta anos, estava longe de se mostrar tão divertida. Parecia um anjo de mármore. Sherman abriu caminho pelo meio da multidão, aflorando os joelhos de várias pessoas sentadas num enorme divã redondo, oriental, próximo da lareira. Foi com um certo esforço que conseguiu atravessar aquela flotilha densa de vestidos enchumaçados e rostos palpitantes...
O rosto de Judy era uma máscara de divertimento. Estava tão fascinada pelas palavras do homenzinho entroncado que não deu logo pela presença de Sherman. Depois viu-o. E sobressaltou-se. Pois claro! — era um sinal de insucesso mundano ver-se um dos esposos reduzido a reunir-se a outro no mesmo grupinho. Mas tanto pior! Mantê-la afastada de Maria! Isso é que importava. Judy não olhou para ele. Tornou a fitar o velho com o mesmo ar sorridente e enlevado.
— ... e então, na semana passada — dizia ele — a minha mulher regressa de Itália e informa-me de que arranjou uma casa de férias em «Como». «Como», disse-me ela. E um tal lago de Como. Pois muito bem! Vamos passar férias a Como. Sempre é melhor do que Hammamet. Hammamet foi há dois Verões atrás. — O homem tinha uma voz áspera, uma voz das ruas de Nova Iorque, apenas ligeiramente limada. Tinha na mão um copo de soda e olhava para um lado e para o outro, de Judy para o anjo de mármore, enquanto contava a sua história, obtendo da parte de Judy uma aprovação francamente efusiva e uma contracção esporádica do lábio superior da parte do anjo, quando o fitava directamente nos olhos. Uma mera contracção do lábio, que talvez fosse o início de um sorriso polido. — Pelo menos «Como» sei onde é. De Hammamet nunca tinha ouvido falar. A minha mulher perdeu a cabeça com a Itália. Pintores italianos, roupa italiana, e agora «Como.»
Judy disparou mais uma rajada de gargalhadas automáticas, Hock hock hock hock hock hock!, como se a maneira de o velho pronunciar «Como», escarnecendo da paixão da mulher pelas coisas italianas, fosse a coisa mais divertida deste mundo... Maria. Apercebeu-se, de repente, que era de Maria que ele estava a falar. Aquele velho era o marido. Arthur Ruskin. Teria já dito o nome dela, ou ter-se-lhe-ia sempre referido como «a minha mulher?» . A outra convidada, o anjo de mármore, continuava imóvel e calada. De súbito, o velho estendeu a mão para a sua orelha esquerda e segurou o brinco entre o polegar e o indicador. Consternada, a mulher ficou hirta. Por sua vontade teria afastado a cabeça com um repelão, mas tinha agora a orelha presa entre o polegar e o indicador daquela velha e horrível figura ursina.
— Muito bonito — disse Arthur Ruskin, ainda agarrado ao brinco. — Nadina D., não é? — Nadina Dulocci era uma das desenhadoras de jóias mais em voga.
— Creio bem que sim! — disse a mulher numa voz tímida, com um sotaque europeu. Apressadamente, levou as mãos às orelhas, tirou os dois brincos e estendeu-lhos, num gesto enfático, como se dissesse: «Pronto, tome lá. Mas queira fazer o favor de não me arrancar as orelhas.»
Imperturbável, Ruskin agarrou-os com as suas patas peludas e inspeccionou-os mais atentamente. — Nadina D., sim senhor. Muito bonitos. Onde é que os arranjou?
— Ofereceram-mos. — Fria como mármore. O velho devolveu-lhe friamente os brincos, e ela guardou-os muito depressa na carteira.
— Muito bonitos, muito bonitos. A minha mulher... Imagina que ele tinha dito «Maria»! — Sherman
interrompeu-o. — Judy! — Para os outros: — Peço desculpa. — Para Judy: — Se não te importas...
Judy transformou imediatamente a sua expressão de surpresa numa de alegria radiosa. Nunca nenhuma mulher ficara mais encantada por ver chegar o marido ao grupo de que fazia parte.
— Sherman! Já conheces Madame Prudhomme? Sherman esticou o seu queixo de Yale e arvorou uma
expressão de perfeita amabilidade aristocrática para cumprimentar a pobre senhora francesa. — Muito prazer.
— E Arthur Ruskin — disse Judy. Sherman apertou com firmeza a pata peluda.
Arthur Ruskin não parecia ter menos que os seus setenta e um anos. Tinha orelhas grandes e grossas, de onde saíam tufos de pêlos espetados. Debaixo do seu queixo firme, a pele flácida do pescoço pendia numa espécie de barbela. A sua postura muito erecta, com o peso do corpo apoiado nos calcanhares, fazia sobressair ainda mais um peito e um ventre proeminente. O seu corpo volumoso estava enfiado, como convinha, num fato azul, camisa branca, e gravata também azul.
— Peço imensa desculpa. — E, para Judy, com um sorriso encantador: — Chega aqui só um instante. — Dirigiu a Ruskin e à francesa um sorriso de desculpas e afastou-se alguns metros, com Judy atrás. O rosto de Madame Prudhomme traduziu um profundo desalento. Tinha contado com a chegada dele ao ramalhete para a salvar de Ruskin.
Judy, arvorando ainda o seu sorriso à prova de bala: — O que foi?
Sherman, uma máscara sorridente com todo o encanto do queixo de Yale: — Queria que... ah... que conhecesses o barão Hochswald.
— Quem?
— O barão Hochswald. Sabes, aquele alemão... um dos Hochswalds.
Judy, ainda com o sorriso aferrolhado: — Mas porquê?
— Subimos com ele no elevador.
Era óbvio que isto não fazia qualquer sentido para Judy. Impacientemente: — Bom, e onde é que ele está? — Impacientemente, porque se já era mau ser-se apanhado no mesmo grupo de conversadores que o marido, formar um grupinho só com ele, então...
Sherman, olhando à sua volta: — Caramba, estava aqui ainda há um minuto.
Judy, já sem o sorriso: — Sherman, o que é que te passou pela cabeça? Que história é essa do barão Hochswald?
Foi então que chegou o mordomo com o gin tónico de Sherman. Bebeu um grande golo e tornou a olhar à sua volta. Sentia-se zonzo. Em toda a parte... radiografias mundanas de vestidos tufados a brilhar à luz cor de alperce dos pequenos candeeiros...
— Então, o que é que estão aí os dois a cozinhar? — Hack hack hack hack hack hack hackl Inês Bavardage agarrou-os a ambos pelo braço. Por um momento, antes de conseguir voltar a arvorar o seu sorriso à prova de bala, Judy exibiu uma expressão consternada. Como se já não bastasse ter formado um grupinho só com o marido, a rainha das anfitriãs de Nova Iorque, aquela que neste mês era a mestra de cerimónias do século, dera por isso e sentira-se obrigada a acudir-lhes com a sua ambulância para os salvar da ignomínia social.
— O Sherman estava...
— Andava à vossa procura! Quero-vos apresentar Ronald Vine. É ele que está a redecorar a casa do Vice-Presi-dente, em Washington.
Inês Bavardage conduziu-os pelo meio da multidão de sorrisos e vestidos e inseriu-os num ramalhete dominado por um homem alto, magro, atraente, o referido Ronald Vine.
Mr. Vine dizia: — ...folhos, folhos, folhos. Tenho a impressão que a mulher do Vice-Presidente acaba de descobrir os folhos. — Revirou os olhos com um ar fatigado. Os outros elementos do ramalhete, duas mulheres e um homem careca, riram às gargalhadas. Judy mal conseguiu obrigar-se a sorrir... Esmagada... Tivera de ser salva da morte social pela anfitriã...
Que coisa tristemente irónica! Sherman detestou-se sinceramente. Detestou-se por todas as catástrofes que ela ainda ignorava.
As paredes da sala de jantar dos Bavardages haviam sido pintadas com tantas demãos de laca cor de alperce torrado, catorze ao todo, que tinham o brilho espelhado de um lago onde à noite se reflectisse uma fogueira. A sala era um triunfo dos reflexos nocturnos, uma entre muitas vitórias do mesmo género de Ronald Vine, cujo forte era a obtenção de cintilações sem recorrer a espelhos. A Indigestão dos Espelhos era agora considerada como um dos maiores pecados dos anos 70. Por isso, no início dos anos 80, da Park à Quinta Avenida, da Rua 62 à 96, elevara-se o terrível fragor de acres e mais acres de espelhos diabolicamente caros a serem arrancados das paredes dos grandes apartamentos. Não, na sala de jantar dos Bavardages os olhos pairavam num cosmos de brilhos, cintilações, reflexos, lampejos, superfícies luzidias e rubros clarões obtidos por outros meios, mais subtis, utilizando laca, tijolos vidrados numa estreita faixa logo abaixo das cornijas do tecto, mobílias inglesas, douradas, de estilo Regência, candelabros de prata, taças de cristal, vasos da Escola de Tiffany, e um faqueiro de prata lavrada, tão rico que as facas pesavam nas mãos como punhos de sabre.
As duas dúzias de convidados estavam sentados à volta de duas mesas redondas de estilo regência. A mesa de banquete, aquela espécie de pista de aterragem onde se podiam instalar vinte e quatro pessoas se se recorresse a todas as tábuas amovíveis, tinha desaparecido das salas de jantar mais elegantes. Não se devia ser tão formal, tão pomposo. Duas mesas pequenas ficavam muito melhor. E tanto pior se estas duas mesas pequenas estavam rodeadas e enfeitadas por uma tal profusão de objets(), tecidos e bibelotsque teria deslumbrado o Rei Sol. Uma anfitriã como Inês Bavardage orgulhava-se do seu dom para o informal e o íntimo.
-
Em francês no original. (N. do T.)
Para sublinhar ainda mais a informalidade da reunião, tinha sido colocado no centro de cada mesa, bem no meio da floresta de cristais e pratas, um cesto de vime entrançado que fazia lembrar o artesanato rústico dos Apalaches. Quase encobrindo o vime, transbordando para o exterior do cestinho, via-se uma profusão de flores silvestres. No meio do cesto apinhavam-se três ou quatro dúzias de papoilas. Este cesto de que a especialidade de Huck Thigg, o jovem florista, que apresentaria aos Bavardages uma conta de 3 300 dólares apenas por aquele jantar.
Sherman ficou a olhar para os cestinhos entrançados. Pareciam objectos esquecidos por Gretel ou pela pequena Heidi da Suíça num banquete de Lucullus. Suspirou. Era... era demais. Maria estava sentada a seu lado, tagarelando com o inglês esquelético à sua direita, que Sherman continuava sem saber quem era. Judy estava na outra mesa — mas via-os muito bem, a ele e a Maria. Tinha que falar a Maria do interrogatório dos dois detectives — mas como podia fazê-lo com Judy ali a olhá-los? Fá-lo-ia com um inócuo sorriso de circunstância nos lábios. Era isso mesmo! Sorriria ao longo de toda a conversa! Ela não ia perceber... Ou será que percebia?... Arthur Ruskin estava na mesa de Judy... Mas, felizmente, a quatro lugares de distância... não poderia conversar com ela... Judy ficara entre o barão Hochswald e um homem ainda novo, de ar pomposo... Inês Bavardage estava a dois lugares de distância de Judy, com Bobby Shaflett à sua direita. Judy sorria um enorme sorriso mundano, voltada para o homem pomposo... Hock hock hock hock hock hock hock hock hock! O seu novo riso ouvia-se distintamente acima do burburinho das conversas... Inês falava com Bobby Shaflett, mas também com a radiografia mundana sorridente sentada à direita da Voz das Montanhas e com Mun-nally Voyd, que estava à direita da radiografia. Ho ho ho ho ho ho ho, entoava o Tenor dos Cabelos de Ouro... Hack hack hack hack hack hack, entoava Inês Bavardage... Hock hock hock hock hock hock hock hock, ria, muito alto, a sua mulher...
Leon Bavardage ficara quatro lugares à direita de Sherman, depois de Maria, do inglês cadavérico e da mulher do pó-de-arroz cor-de-rosa, Barbara Cornagglia. Contrastando com Inês Bavardage, Leon era tão animado como um dia de chuva. Tinha um rosto plácido, liso, passivo, cabelo louro e ondulado, já com entradas, um nariz longo e delicado e uma Pele muito pálida, quase lívida. Em vez de um riso mundano
de 300 watts, tinha um sorriso tímido e grave, que endereçava nesse momento a Miss Cornagglia.
Um pouco tarde, ocorreu a Sherman que devia conversar com a sua vizinha da esquerda. Rawthrote, Mrs. Rawth-rote; quem diabo seria ela? O que é que havia de lhe dizer? Virou-se para a esquerda — e ela estava à espera. Fitava-o com os seus olhos laser a escassas dezoito polegadas da sua cara. Uma autêntica radiografia, com uma cabeleira tufada de um louro platinado e um olhar tão intenso que Sherman perguntou a si próprio se ela não saberia de alguma coisa... Abriu a boca... sorriu... deu voltas à cabeça em busca de alguma coisa para dizer... fez um esforço... E disse-lhe: — Era capaz de me fazer um grande favor? Diga-me o nome do senhor que está sentado à minha direita, este senhor muito magro... Conheço tão bem a cara dele, mas por mais que tente não me consigo lembrar do nome.
Mrs. Rawthorte aproximou-se ainda mais, ficando com o rosto a umas oito polegadas do seu. Estava tão próxima que parecia ter três olhos em vez de dois. — Aubrey Buffing
— disse. E continuava a fitá-lo com o seu olhar inflamado.
— Aubrey Buffing — disse Sherman com um ar infeliz. No fundo, aquilo era outra pergunta.
— O poeta — disse Mrs. Rawthrote. — Está na lista dos indigitados para o Prémio Nobel. O pai dele era duque de Bray. — O tom em que explicou tudo isto significava: «Como é possível que não saiba estas coisas?»
— Ah, é claro — disse Sherman, sentindo que tinha de somar a todos os seus outros pecados o de ser um filisteu. — O poeta.
— O que é que acha do aspecto dele? — Os olhos dela pareciam os de uma serpente. Continuava com o rosto quase colado ao seu. Sherman queria libertar-se daquele olhar mas não conseguiu. Sentia-se paralisado.
— O aspecto? — perguntou.
— Sim, o aspecto de Lord Buffing. — disse ela. — O estado de saúde dele.
— Eu... bom, não sei. Eu não o conheço.
— Está a ser tratado no Hospital Vanderbilt. Tem SIDA.
— Recuou algumas polegadas, para melhor observar o efeito desta bomba sobre Sherman.
— Que coisa horrível! — disse Sherman. — Como é que a senhora sabe disso?
— Tenho alguns conhecidos que trabalham lá no hospital. — Fechou os olhos e depois tornou a abri-los, como se dissesse: «Sei muita coisa, mas o melhor é não me fazer
demasiadas perguntas». Depois acrescentou: — Se lhe digo isto, é entre nous, claro. — Mas eu não a conheço de lado nenhum! — Não diga nada ao Leon nem à Inês — prosseguiu. — Ele está a viver cá em casa há duas semanas e meia. Se quer um bom conselho, nunca convide um inglês para passar um fim-de-semana em sua casa. É que depois não consegue ver-se livre dele. — Disse isto sem sorrir, como se fosse o aviso mais sério que lhe tivesse sido dado fazer em toda a sua vida. Prosseguiu o seu exame míope do rosto de Sherman.
Para se libertar daqueles olhos, Sherman lançou uma olhadela rápida ao inglês descarnado, Lord Buffing, o Poeta indigitado.
— Não se preocupe — disse Mrs. Rawthrote. — Não é doença que se possa apanhar à mesa, senão a estas horas já estávamos todos contaminados. Metade dos empregados de mesa de Nova Iorque são homossexuais. Mostre-me um homossexual feliz, que eu mostro-lhe um cadáver gay(1). — Recitou este motfarouche (2) no mesmo tom de matraca em que dissera tudo o resto, sem um esboço sequer de sorriso.
Nesse preciso instante um jovem empregado bem parecido, de tipo latino, começou a servir o primeiro prato, que parecia um ovo de Páscoa coberto por um espesso molho branco, assente numa camada de caviar vermelho sob a qual se viam folhas de alface Bibb.
— Estes não — disse Mrs. Rawthrote à frente do jovem empregado. — Estes trabalham a tempo inteiro para a Inês e o Leon. São mexicanos de Nova Orleães. Vivem na casa de campo deles, e só aqui vêm para servir estes jantares. — E depois, sem qualquer preâmbulo, perguntou-lhe: — O que é que faz, Mrs. McCoy?
Sherman ficou estarrecido. Não conseguiu dizer nada. Ficou tão perplexo como quando Campbell lhe fizera a mesma pergunta. Uma nulidade, uma radiografia mundana quarentona, e, no entanto... eu quero impressioná-la! As respostas possíveis ecoaram-lhe no cérebro... Sou membro efectivo do departamento de obrigações da Pierce & Pierce... Não... assim parecia que ele era uma peça substituível de alguma engrenagem burocrática, e que tinha orgulho nisso... Sou o vendedor número um... Não... parecia conversa de...
(1) Em francês no original. (N. do T.)
(2) Trocadilho intraduzível. Gay significa, ao mesmo tempo, «alegre» e "homossexual». (N., do T.)
(3) Em francês no original. (N. do T.), ,
...vendedor de aspiradores... Formamos um grupo que toma as decisões mais importantes... Não... não era verdade e seria uma afirmação bastante pouco subtil... Ganhei 980000 dólares a vender obrigações no ano passado... Era aí que batia o ponto, mas não havia maneira de transmitir tal informação sem se parecer idiota... Sou — um Senhor do Universo!... Um simples sonho! — e mesmo que fosse verdade, não o poderia dizer!... Por isso disse apenas: — Oh, tento vender umas obrigaçõezitas na Pierce & Pierce. — Sorriu quase imperceptivelmente, esperando que a modéstia da afirmação fosse interpretada como um sinal de confiança, uma promessa de sucessos estrondosos e espectaculares na Wall
Street.
Mrs. Rawthrote tornou a fitá-lo com os seus olhos laser. A seis polegadas de distância: — O Gene Lopwitz é nosso cliente.
— Cliente?
— Da Benning & Sturtevant.
Da quê? — Sherman ficou a olhar para ela.
— Conhece o Gene, não conhece? — perguntou ela.
— Conheço, claro: trabalho com ele.
Era óbvio que a mulher tinha achado aquilo pouco convincente. Para grande espanto de Sherman, e sem dizer mais uma única palavra, rodou noventa graus para a sua esquerda, onde um homem jovial e muito corado conversava com a Tarte de Limão que chegara com o barão Hochswald. Sherman descobria agora quem ele era... o director de uma cadeia de televisão, chamado Rale Brigham. Sherman ficou a olhar para as vértebras salientes do pescoço de Mrs. Rawthrote, no sítio onde emergiam do vestido... Talvez lhe tivesse voltado as costas apenas por momentos, e se preparasse para retomar o diálogo com ele... Mas não... metera-se na conversa de Brigham com a Tarte... Sherman ouvia a sua voz de matraca... Via-a inclinar-se para Brigham... fitando-o com o seu olhar laser... Era evidente que não estava disposta a perder mais tempo... com um mero vendedor de obrigações!
Mais um fracasso. À sua direita, Maria continuava embrenhada na conversa com Lord Buffing. E ele estava de novo às portas da morte social. Era um homem absolutamente só à mesa do jantar. O enxame zumbia a toda a sua volta. Todos os outros se encontravam num estado de beati-tude social. Só ele fracassara. Só ele ficara ali sem par para a conversa, uma lâmpada social de zero watts no Zoo das Celebridades dos Bavardages... A minha vida está-se a desmoronar — e, no entanto, mais forte que todas as outras coisas que sobrecarregavam o seu sistema nervoso central, o que vinha à tona era aquela vergonha — vergonha! — da sua incompetência mundana.
Pôs-se a olhar para o cesto de vime de Huck Thigg no centro da mesa, como se fosse grande apreciador de arranjos florais. Depois arvorou um sorrisinho satisfeito, como se alguma coisa o divertisse. Bebeu um grande gole de vinho e olhou para a outra mesa, fingindo que o seu olhar se cruzara com o de algum dos seus ocupantes... Sorriu... Murmurou palavras inaudíveis dirigindo-se a um ponto vago da parede. Bebeu mais um pouco de vinho e tornou a examinar o cesto. Contou as vértebras de Mrs. Rawthrote. Deu-se por muito feliz quando um empregado, um dos varones vindos do campo, se materializou a seu lado e lhe tornou a encher o copo de vinho.
O prato principal era rosbife cortado em fatias rosadas, servido em grandes travessas de porcelana, acompanhado por cebolas, cenouras e batatas guisadas. Era um prato simples, substancial e bem americano. Os pratos Simples, Substanciais e Bem Americanos, intercalados entre prólogos e epílogos requintados e exóticos, tinham passado a ser comme ilfaut), com o advento da moda informal. Quando o empregado mexicano começou a dispor na mesa as grandes travessas, para que os convivas pudessem servir-se à vontade, isso foi o sinal para trocar de parceiros de conversa. Lord Biffing, o poeta inglês entre nous gravemente doente, voltou-se para a maquilhada Mme. Cornagglia. Maria voltou-se para Sherman. Sorriu-lhe e fitou-o intensamente. Intensamente demais! E se Judy olhasse para eles nesse preciso instante? Respondeu com o mais gelado dos sorrisos de circunstância.
— Uf! — disse Maria, revirando os olhos em direcção a Lord Buffing. Sherman não queria falar acerca de Lord Buffing. Queria falar da visita dos dois detectives. Mas mais vale ir devagarinho, não vá a Judy estar a olhar para nós.
— Ah, é verdade! — disse. Um grande sorriso de circunstância. — Já me esquecia. Não gostas dos Ingleses, pois não?
— Oh, não é isso — disse Maria. — Ele até me pareceu simpático. Só que não percebi metado do que ele me disse. Nunca ouvi sotaque assim.
(1) Em francês no original. (N. do T.)
Sorriso de circunstância: — De que é que ele esteve a falar?
— Da finalidade da vida. Juro. Não estou a brincar. Sorriso de circunstância: — E chegou a dizer-te qual
era, a finalidade da vida?
— Por acaso até disse. É a reprodução. Sorriso de circunstância: — A reprodução?
— Sim. Ele disse que tinha levado setenta anos a perceber que é essa a única finalidade da vida: a reprodução. Disse: «Só uma coisa interessa à Natureza — a reprodução pela reprodução.»
Sorriso de circunstância: — Isso é muito interessante, vindo de quem vem. Sabes que ele é homessexual, não sabes?
— Oh, lá estás tu com essas coisas. Quem é que te disse?
— Esta aqui. — Apontou para as costas de Mrs. Rawth-rote. — A propósito, quem é ela? Conhece-la?
— Conheço. Sally Rawthrote. É uma agente imobiliária.
Sorriso de circunstância: — Uma agente imobiliária! — Meu Deus do céu. Como é que se foram lembrar de convidar para jantar uma agente imobiliária!
Como se lhe lesse os pensamentos, Maria disse: — Estás a ser antiquado, Sherman. Hoje em dia é muito chique ser agente imobiliário. Ela vai a todo o lado com aquele velho gordo de cara vermelha que ali está, Lord Gutt. — Acenou com a cabeça na direcção da outra mesa. „ .?
— O velho gordo de sotaque inglês?
— Sim.
— Quem é ele?
— Um banqueiro, ou coisa parecida.
Sorriso de circunstância: — Olha, Maria, tenho de te dizer uma coisa, mas... vê se não te descontrolas. A minha mulher está na outra mesa, de frente para nós. Por isso mantém a calma, se fazes favor.
— Ora essa, pode estar descansado, Mr. McCoy querido.
Mantendo do princípio ao fim o seu sorriso de circunstância estampado no rosto, Sherman contou-lhe, em breves palavras, o seu confronto com os dois polícias.
Precisamente como ele receara, Maria perdeu toda a compostura. Abanou a cabeça e franziu o sobrolho. — És capaz de me dizer porque é que não os deixaste ver o maldito carro, Sherman? Disseste que não tinha marcas nenhumas!
Sorriso de circunstância: — Hei! Acalma-te! A minha mulher pode estar a olhar. O meu problema não era o carro.
O que eu não queria era que eles falassem com o empregado da garagem. Podia ser o mesmo que lá estava na noite do acidente, quando eu fui lá pôr o automóvel.
— Santo Deus, Sherman. Mandas-me estar calma, mas quem não soube manter a calma foste tu. Tens a certeza que não lhes disseste nada?
Sorriso de circunstância: — Tenho a certeza, sim.
— Por amor de Deus, acaba lá com esse estúpido sorriso. Não é proibido um homem ter uma conversa séria com uma rapariga à mesa do jantar mesmo com a mulher a olhar. Só não percebo porque é que aceitaste falar com os polícias.
— Na altura pareceu-me a atitude mais acertada.
— Eu bem te disse que tu não tinhas estofo para uma situação dessas.
Tornando a arvorar o sorriso de circunstância, Sherman lançou uma olhadela a Judy. Estava ocupada a sorrir para a cara de índio do barão Hochswald. Voltou-se para Maria, ainda a sorrir.
— Oh, por amor de Deus — disse Maria.
O sorriso extinguiu-se — Quando é que posso falar contigo? Quando é que te posso ver?
— Telefona-me amanhã à noite.
— Está bem. Amanhã à noite. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Ouviste alguma conversa acerca do artigo do City Light? Quer dizer, hoje à noite, aqui?
Maria desatou a rir. Sherman ficou aliviado. Se Judy olhasse para eles, julgaria que estavam a ter uma conversa divertida. — Estás a falar a sério? — disse Maria. — A única coisa que esta gente lê no City Light é a coluna dela. — Apontou para uma mulher alta e gorda do outro lado da mesa, uma mulher de uma certa idade com uma cabeleira de um louro deslavado e pestanas postiças tão compridas e espessas que mal conseguia erguer as pálpebras superiores.
Sorriso de circunstância: — Quem é?
— É «A Sombra».
O coração de Sherman deu um salto. — Deves estar a brincar! Então eles convidam para jantar um colunista social?
— Claro que convidam. Não te preocupes. Ela não está nada interessada em ti. E também não está interessada em acidentes de automóvel no Bronx, podes ter a certeza. Agora, se eu desse um tiro no Arthur, isso já era capaz de a interessar. E eu não me importava nada de lhe dar esse Prazer.
Maria lançou-lhe uma diatribe contra o marido. Ele estava roído de ciúmes e ressentimentos. Andava a fazer da vida dela um inferno. Passava o tempo a chamar-lhe puta. O rosto de Maria ia ficando cada vez mais alterado à medida que falava. Sherman alarmou-se — Judy podia estar a olhar! Queria tornar a pôr o seu sorriso de circunstância, mas como é que podia fazê-lo ante aquela lamentação? — Quer dizer, passeia de um lado para o outro no apartamento e chama-me puta. «Grande puta! Grande puta!»... em frente aos criados e tudo! Não imaginas o que aquilo é! Se me torna a chamar isso mais alguma vez, juro por Deus que lhe atiro com uma coisa à cabeça!
Pelo canto do olho, Sherman viu o rosto de Judy voltado para ele e para Maria. Oh, meu Deus! — e ele sem o sorriso! Voltou a arvorá-lo a toda a pressa, ao mesmo tempo que dizia a Maria: — Mas isso é horrível! Ele deve mas é estar senil.
Maria ficou um instante a olhar para o seu rosto cheio de amabilidade mundana, e depois abanou a cabeça. — Vai para o diabo, Sherman. Tu não és melhor do que ele.
Surpreendido, Sherman manteve o seu sorriso inalterável e deixou-se envolver pelo zumbido da colmeia. Para onde quer que olhasse, que euforia! Que olhos radiantes, que sorrisos a toda a prova! Tantos dentes palpitantes! Hack hack hack hack hack hack hack, elevava-se o som das gargalhadas de Inês Bavardage, saudando o seu triunfo mundano. Ho ho ho ho ho ho ho ho, respondia-lhe o riso cavalar do Tenor dos Cabelos de Ouro. Sherman emborcou mais um copo de vinho.
A sobremesa era soufflé de alperce, preparado individualmente, para cada um dos convivas, numa tigelinha de barro de tipo normando com um motivo au rustaud) pintado próximo da borda. Os doces complicados, com muito açúcar, estavam outra vez em moda nesse ano. O tipo de sobremesa que revelava preocupação com as calorias e o colesterol as velhas combinações de morangos e bolas de melão com sorvete, tinha-se tornado coisa boa para uma vulgar dona de casa da classe média. E, além disso, conseguir servir vinte e quatro soufflés individuais era um tour de force. Exigia uma cozinha muito especial e uma quantidade de empregados.
Concluído o tour de force, Leon Bavardage pôs-se de pé e bateu com a faca no copo — um copo de sauterne de um tom rosa carregado com reflexos dourados — neste ano também era comme ilfaut servir vinhos bastante encorpados à sobremesa; os convivas de ambas as mesas responderam-lhe percutindo também os seus copos com um ar risonho e vagamente embriagado. Ho ho ho ho, soou o riso de Bobby Shaflett. Este batia no copo com toda a energia. Os lábios vermelhos de Leon Bavardage alastraram-lhe pelo rosto todo, e os seus olhos franziram-se, como se aquela percussão de cristais fosse um claro testemunho da alegria que as celebridades reunidas sentiam em sua casa.
— Vocês são todos amigos tão queridos e tão especiais, meus e de Inês, que não precisamos de uma ocasião especial para vos querermos ter aqui connosco em nossa casa — disse, numa voz suave e arrastada, vagamente feminina, com um ligeiro sotaque da região do Golfo. Depois voltou-se para a outra mesa, onde estava sentado Bobby Shaflett. — Por exemplo, às vezes convidamos o Bobby só para termos oportunidade de ouvir o riso dele. O riso de Bobby é música, pelo menos na minha opinião — e além disso nunca conseguimos convencê-lo a cantar, nem sequer quando a Inês toca piano!
Hack hack hack hack hack hack hack hack hack, fez Inês Bavardage. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho, a Voz das Montanhas abafou por completo com as suas as gargalhadas da anfitriã. Era um riso espantoso, desta vez. Ho ho hoo hooo hooooo hoooooo hooooooo, subia cada vez mais, para depois entrar num curioso decrescendo estilizado, terminando com um soluço. A sala mergulhou num silêncio profundo durante o instante que os convivas, ou a maior parte deles, demoraram a perceber que acabavam de ouvir as famosas gargalhadas da ária «Vesti la giubba» da ópera Pagliacci.
Aplausos estrondosos de ambas as mesas, rostos risonhos, gargalhadas, e pedidos de «Mais! Mais! Mais!»
— Não, não! — disse o gigante louro. — Só canto para Pagar o jantar, e o que eu já cantei já chega para o que comi! O meu soufflé era um bocado pequeno, Leon!
Uma tempestade de aplausos e gargalhadas. Leon Bavardage fez um gesto lânguido em direcção a um dos empregados mexicanos. — Mais soufflé para Mr. Shaflett! — disse. Façam-no na banheira! — O criado fitou-o com um ar absolutamente impassível.
Com um sorriso nos lábios e os olhos brilhantes, arrebatado por este dueto tão espirituoso, Rale Brigham berrou: —
Soufflé da Lei Seca!() — A piada era tão coxa que, como Sherman teve o prazer de registar, toda a gente a ignorou, até mesmo a Mrs. Rawthrote de olhar laser.
— Mas, seja como for, hoje é uma ocasião especial — disse Leon Bavardage — porque temos aqui em casa, como nosso convidado durante a sua visita aos Estados Unidos, o nosso amigo muito especial, Aubrey Ruffing. — E sorriu para o grande homem, que voltou para Leon Bavardage o seu rosto descarnado e esboçou um sorriso tímido e contrafeito. — Pois bem, no ano passado o nosso amigo Jacques Prudhomme — sorriu para o ministro francês da Cultura, que estava sentado à sua direita — disse-me a mim e a Inês que sabia de fonte segura... espero não estar a falar demais, Jacques...
— Também espero que não — disse o ministro da Cultura na sua voz grave, franzindo exageradamente o sobrolho para provocar um efeito cómico. Risos aprovadores.
— Bom, mas a verdade é que nos disse, a mim e à Inês, que sabia de fonte segura que Aubrey tinha ganho o Prémio Nobel. Lamento muito, Jacques, mas os vossos serviços secretos em Estocolmo não andam a funcionar lá muito bem!
Um expressivo encolher de ombros, e de novo aquela voz elegante e sepulcral: — Felizmente, não estamos a pensar entrar em guerra com a Suécia, Leon. — Sonoras gargalhadas.
— Mas Aubrey andou lá muito, muito perto — disse Leon, colando o polegar ao indicador — e quem sabe se o próximo ano não será o ano dele. — O velho inglês conservou o seu sorrisinho contrafeito. — Mas é claro que no fundo isto pouco importa, porque aquilo que Aubrey significa para a nossa... para a nossa cultura... vale muito mais do que qualquer prémio, e também sei que aquilo que Aubrey significa, para mim e para Inês, como amigo... bom, vale muito mais do que os prémios e a cultura... e — sem saber muito bem como havia de concluir a tirada, acabou por dizer: - ... e tudo o mais. Seja como for, quero propor um brinde à saúde de Aubrey, com os votos de uma excelente estadia na América...
— Com isto, já acaba de ganhar mais um mês de estadia cá em casa — disse Mrs. Rawthrote, num aparte, a Rale Brigham.
(1) Alusão ao facto de, no tempo da Lei Seca, o whisky falsificado que era vendido clandestinamente ser muitas vezes preparado em banheiras. (N. do T.)
Leon ergueu o seu copo de sauterne: — Lord Buffing!
Copos erguidos, aplausos, vivas à maneira britânica.
O velho inglês pôs-se de pé, muito devagar. Era terrivelmente magro. O seu nariz parecia ter uma milha de comprimento. Não era alto, e no entanto o seu grande crânio calvo dava-lhe um ar imponente.
— É muita gentileza sua, Leon — disse, olhando para Leon e baixando a seguir os olhos, modestamente. — Como você com certeza sabe... aconselha-se a todos os que aspiram a receber o Prémio Nobel que ajam como se ignorassem que tal prémio existe; e além disso, eu estou velho demais para me preocupar com essas coisas... Por isso tenho de lhe responder que não sei do que está a falar. — Uma gargalhadinha tímida. — O que eu não posso de maneira nenhuma ignorar é a maravilhosa amizade e hospitalidade que você e Inês me têm oferecido, e ainda bem que não sou obrigado a fingir que não dou por elas. — Desenvolvera a sua litotes com tal presteza que a audiência ficou perplexa. Mas houve murmúrios de encorajamento, incitando-o a continuar. — Tanto assim é — prosseguiu — que eu, pela minha parte, teria o maior prazer em cantar para pagar o meu jantar...
— Também me parece — murmurou Mrs. Rawthrote.
— ... mas não sei como alguém se atreveria a fazê-lo depois da notável alusão de Mr. Shaflett à dor de Canio em Pagliacci.
Pronunciou «Mr. Shaflett» num tom cheio de malícia, como só os Ingleses são capazes de fazer, para sublinhar o que havia de ridículo em dar o nobre título de «Senhor» àquele palhaço rústico.
De repente, parou de falar, levantou a cabeça e olhou em frente, como se estivesse a ver, através das paredes, as luzes da metrópole lá fora. Teve um riso seco.
— Desculpem-me. De repente pus-me a ouvir o som da minha própria voz, e ocorreu-me que tenho agora aquele tipo de voz britânica que, se ouvida por mim há cinquenta anos, quando era jovem — um jovem incrivelmente impulsivo, se bem me recordo — me teria feito sair da sala. Os convivas entreolharam-se de soslaio. — Mas eu sei que vocês não vão sair — continuou Buffing. — Sempre foi maravilhoso ser-se inglês nos Estados Unidos. Talvez Lord Gutt não esteja de acordo comigo — Pronunciou «Gutt» com uma espécie de latido gutural, como Se dissesse «Lord Besta» — mas duvido muito. Quando vim Pela primeira vez aos Estados Unidos, em rapaz, ainda antes da Segunda Grande Guerra, as pessoas ouviam-me falar e diziam: «Oh, é inglês!», e eu conseguia sempre o que queria, porque o facto de eu ser inglês as impressionava. Hoje venho outra vez aos Estados Unidos, as pessoas ouvem-me falar e dizem: «Oh, é inglês! Coitado!», e continuo a conseguir tudo o que quero, porque os vossos compatriotas têm sempre imensa pena de nós.
Muitos risos aprovadores e um grande alívio. O velho inglês resolvera explorar a sua veia mais ligeira. Calou-se de novo, como que para decidir se havia ou não de continuar. A conclusão foi, obviamente que sim.
— No fundo, não sei porque é que nunca escrevi um poema acerca dos Estados Unidos. Não, retiro o que disse. Sei muito bem, claro. Vivo num século em que não se espera dos poetas que escrevam acerca de coisa nenhuma, ou pelo menos de coisas que tenham um nome geográfico. Mas os Estados Unidos mereciam um poema épico. Em vários momentos da minha carreira pensei em escrever uma epopeia, mas também nunca cheguei a fazê-lo. Também já não se espera dos poetas que escrevam epopeias, apesar de os únicos poetas que sobreviveram e vão continuar a sobreviver à passagem dos séculos serem os que as escreveram, Homero, Virgílio, Dante, Shakespeare, Milton, Spenser... à luz destes, onde estarão Mr. Elliot ou Mr. Rimbaud — no mesmo tom em que dissera Mr. Shaflett — daqui a escassos vinte ou vinte e cinco anos? Receio bem que mergulhados na obscuridade, nas notas de rodapé, no meio da floresta dos ibidem... na companhia de Aubrey Buffing e de uma quantidade de outros poetas que num ou noutro momento da minha vida tive na mais alta conta. Não, nós, poetas, já não temos a vitalidade necessária para escrever epopeias. Não temos a coragem de fazer versos rimados, e a epopeia americana deveria ter rimas, rimas atrás de rimas, como as que nos deu Edgar Allan Poe... Sim... Poe, que passou os seus últimos anos de vida ligeiramente a norte do lugar onde nos encontramos, numa parte de Nova Iorque chamada o Bronx... numa pequena casa com lilases e uma cerejeira... e uma mulher a morrer de tuberculose. Ele era um bêbedo, claro, e talvez até um psicótico — mas tinha a visão profética da loucura. Escreveu um conto que nos diz o que precisamos de saber sobre o momento que hoje vivemos... «A máscara da Morte Vermelha»... Uma misteriosa epidemia, a Morte Vermelha, assola toda a terra. O Príncipe Prospero — Prospero — até o nome é perfeito — o Príncipe Prospero reúne todas as pessoas de qualidade no seu castelo, armazena provisões de comida e bebidas para dois anos, e fecha as portas ao
mundo exterior, protegendo-se da violência das almas mais baixas; começa então um baile de máscaras que deverá durar até que a epidemia, do outro lado dos muros, se tenha finalmente extinguido. A festa não tem fim e nunca se interrompe, e decorre em sete grandes salões, em cada um dos quais a orgia é mais intensa do que no anterior; e os convivas vão sendo atraídos, a pouco e pouco, para o sétimo salão, inteiramente forrado de negro. Uma noite, nesta última sala, aparece um convidado envergando o disfarce mais perfeito e mais terrivelmente belo que àquele grupo de radiosos mascarados fora dado ver. O convidado está disfarçado de Morte, e o disfarce é de tal modo convincente que Prospero se ofende e ordena que o expulsem. Mas ninguém se atreve a tocar-lhe pelo que a tarefa é deixada ao cuidado do próprio príncipe; e, no instante em que ele toca na temível mortalha, cai morto no chão, porque a Morte Vermelha entrou na casa de Prospero... Prospero, meus amigos... Ora o aspecto mais interessante desta história é que, de uma maneira ou de outra, os convidados sabem desde o início o que os espera naquela sala, e no entanto sentem-se irresistivelmente atraídos para ela, porque é lá que a excitação é mais intensa, o prazer mais desenfreado e os manjares, as bebidas e a carne mais sumptuosos — e eles não têm mais nada. Famílias, lares, filhos, a grande cadeia da espécie, a eterna maré dos cromossomas, já nada significam para eles. Os seus destinos estão para sempre ligados, e todos rodopiam num torvelinho, em volta uns dos outros, incansavelmente, como partículas de um átomo condenado — e como é que a Morte Vermelha não havia de acabar por ser uma espécie de estímulo derradeiro, de neplus ultra? Poe teve, portanto, a gentileza de escrever por nós o fím da história, já há mais de cem anos. Conhecendo esse fim, como é que nós podemos escrever as passagens mais solares que deviam precedê-lo? Eu não, eu não. O mal-estar — a náusea — a dor impiedosa — cessaram juntamente com a febre que me exasperava o espírito — a febre chamada «Vida», que me incendiava o cérebro. A febre chamada «Vida» — eis algumas das últimas palavras que ele escreveu... Não... não posso ser o poeta épico que vocês merecem. Estou demasiado velho e demasiado, oh, demasiado cansado, exausto da febre chamada «Vida», e tenho demasiado apreço Pela vossa companhia, pela vossa companhia e pelo torvelinho, pelo torvelinho... Obrigado, Leon. Obrigado, Inês.
E, com isto, a figura espectral do inglês tornou lenta-mente a sentar-se.
O intruso que os Bavardages mais receavam, o silêncio, dominava agora a sala. Os convivas olhavam uns para os outros, cheios de embaraço, um embaraço de três tipos. Sentiam-se embaraçados por aquele velhote, que cometera a gaffe de imprimir um tom sombrio a uma recepção dos Bavardages. Sentiam-se embaraçados porque tinham necessidade de exprimir a sua superioridade cínica em relação àquela tirada solene, mas não sabiam como fazê-lo. Atrever-se-iam a escarnecer? Afinal de contas, ele era Aubrey Buf-fing, indigitado para o Prémio Nobel, e estava a viver em casa dos Bavardages. E sentiam-se ainda mais embaraçados porque havia sempre a possibilidade de aquele velho ter dito alguma coisa profunda e de eles não terem dado por isso. Sally Rawthrote revirou os olhos, pôs um ar falsamente compungido e olhou à sua volta para ver se alguém lhe seguia o exemplo. Lord Gutt arriscou um sorriso desanimado, com a sua grande cara gorda, e lançou uma olhadela a Bobby Shaflett, que por sua vez olhava para Inês Bavardage, à espera de uma deixa. Mas ela não deu deixa nenhuma. Olhava fixamente em frente, muda de surpresa. Judy sorria com um ar que Sherman achou completamente idiota, como se pensasse que aquele distinto cavalheiro da Grã-Bretanha acabava de exprimir ideias muito agradáveis.
Inês Bavardage levantou-se e disse: — O café vai ser servido na outra sala.
Gradualmente, sem grande convicção, a colmeia pôs-se de novo a zumbir.
No trajecto de regresso a casa, o trajecto de seis quarteirões que lhes custaria 123,25 dólares, ou seja, metade de 246,50, com o motorista de cabelos brancos da Mayfair Town Inc. ao volante, Judy falou ininterruptamente. Estava transbordante de excitação. Sherman já não a via assim animada há mais de duas semanas, desde a noite em que o apanhara in flagrante telephone com Maria. Nesta noite era óbvio que ela não se apercebera de nada relacionado com Maria — nem sequer sabia que a bonita rapariga que ficara ao lado do marido à mesa do jantar se chamava Maria. Não, ela estava extremamente bem disposta. Estava embriagada, não de álcool — álcool engordava — mas de Sociedade.
Com um desprendimento fingido e vagamente irónico, discorreu acerca da inteligência com que Inês escolhera as suas celebridades: três títulos (o barão Hochswald, Lord Gutt e Lord Buffing), um político importante com um toque cosmopolita (Jacques Prudhomme), quatro gigantes das artes e das letras (Bobby Shaflett, Nunnally Voyd, Boris Korolev e Lord Buffing), dois designers (Ronald Vine e Barbara Cornagglia), três V.I.F.s — V.I.F.s? — perguntou Sherman. — «Very important Fags»(1) — disse Judy; — é assim que toda a gente lhes chama. (O único nome que Sherman apanhou foi o do inglês que ficara sentado à direita dela, St. John Thomas)... e três gigantes do mundo dos negócios (Hochswald, Rale Brigham e Arthur Ruskin). A seguir pôs-se a falar de Ruskin. A sua vizinha da esquerda, Madame Prudhomme, recusava-se a conversar com ele, e a da direita, a mulher de Rale Brigham, não estava interessada, e por isso Ruskin dirigira-se ao barão Hochswald e começara a explicar-lhe o seu serviço de voos fretados para o Médio Oriente. — Sherman, fazes alguma ideia de como é que aquele homem ganha o seu dinheiro? Transporta árabes para Meca, de avião — de 747! — às centenas de milhar! — e é judeu!
Fazia tanto tempo que ela não tagarelava assim com ele, no tom radioso de outrora, que Sherman nem se lembrava quando fora a última vez. Mas pouco lhe importavam agora a vida e os negócios de Arthur Ruskin. Só conseguia pensar no inglês esquelético e alucinado, Aubrey Buffing.
Foi então que Judy disse: — O que é que terá passado pela cabeça de Lord Buffing? Todo aquele discurso foi tão... lúgubre.
Pois foi lúgubre, foi, pensou Sherman. Preparava-se para lhe contar que Buffing estava a morrer de SIDA, mas as alegrias da maledicência também já não lhe interessavam.
— Não faço ideia — disse.
Mas a verdade é que fazia. Sabia exactamente o que fora aquilo. A voz afectada e espectral do inglês era a voz de um oráculo. Aubrey Buffing falara só para ele, como um médium enviado por Deus em pessoa. Edgar Allan Poe — Poe! — a ruína dos dissolutos! — no Bronx — no Bronx! O torvelinho sem sentido, os prazeres desenfreados da carne, o olvido da família e do lar! — e, à espera na última sala, a Morte Vermelha.
Eddie abriu-lhes a porta quando os viu sair do automóvel da Mayfair Town Car e aproximar-se da entrada. Judy saudou-o com um: «Boa noite, Eddie!» Sherman mal olhou para ele e não disse nada. Sentia-se zonzo. Como se já não...
(1) «Maricas Muito Importantes». Abreviatura formada por analogia com o consagrado «V.I.P.», «Very Important Person». (N. do T.)
...bastasse sentir-se consumido de medo, estava bêbedo. Percorreu com os olhos o átrio do prédio... A Rua de Todos os Sonhos.. Quase contara encontrar ali a figura amortalhada à sua espera.
16 - Coisas de Irlandeses
A virilidade irlandesa de Martin era tão gelada que Kramer não conseguia imaginá-lo muito animado, a não ser talvez quando se embebedava. E mesmo então parecia-lhe que ele devia ser um bêbedo mau e irascível. Mas nessa manhã Martin estava muitíssimo animado. Os seus sinistros olhos de Doberman pareciam maiores e mais brilhantes. Sentia-se feliz como uma criança.
— Estávamos nós muito bem na entrada com os dois porteiros — dizia —, quando se ouviu uma espécie de zumbido, se acendeu uma luz, e, caramba, saiu pela porta fora um gajo a correr como se levasse fogo no rabo, a soprar num apito e a abanar os braços para chamar um táxi.
Olhava fixamente para Bernie Fitzgibbon enquanto ia contando a sua história. Estavam os quatro, Martin, Fitzgibbon, Goldberg e o próprio Kramer, no gabinete de Fitzgibbon. Fitzgibbon, como convinha ao chefe do Departamento de Homicídios da Procuradoria, era um irlandês magro e atlético da variedade mais morena, com um queixo quadrado, cabelo preto e espesso, olhos escuros, e aquilo a que Kramer chamava um Sorriso de Vestiário. O Sorriso de Vestiário era um sorriso breve e nada insinuante. Se Fitzgibbon começara logo a sorrir ao escutar a história de Martin e os seus comentários grosseiros, era sem dúvida por Martin ser um irlandês puro e duro como poucos, raça que Fitzgib-bon compreendia e muito prezava.
Na sala havia dois irlandeses, Martin e Fitzgibbon, e dois judeus, Goldberg e ele próprio, mas para todos os efeitos eram quatro irlandeses. Eu continuo a ser judeu, pensava Kramer, mas aqui nesta sala não. Todos os polícias davam em irlandeses, os polícias judeus como Goldberg, mas também os polícias italianos, os polícias latino-americanos e os polícias negros; ninguém compreendia os comissários de Polícia, que muitas vezes eram negros, porque a cor da sua pele ocultava o facto de se terem tornado irlandeses de corpo e alma. E o mesmo se podia dizer dos procuradores-adjuntos do Departamento de Homicídios. Todos se transformavam em irlandeses. Os irlandeses estavam a desaparecer de Nova Iorque, nas estatísticas globais da população. Em política, os irlandeses, que há vinte anos ainda estavam à cabeça do Bronx, de Queens, de Brooklyn e de grande parte de Manhattan, encontravam-se reduzidos a um pequeno bairro decadente no West Side de Manhattan, onde os cais metálicos fora de uso se iam lentamente enferrujando no rio Hudson. Todos os polícias irlandeses que Kramer conhecia, incluindo Martin, viviam lá para Long Island ou em sítios como Dobbs Ferry, e iam e vinham todos os dias para a cidade. Bernie Fitzgibbon e Jimmy Caughey eram dinossauros. Todos os indivíduos em ascensão na Procuradoria do Bronx eram judeus ou italianos. E, no entanto, a Polícia e o Departamento de Homicídios da Procuradoria tinham um profundo cunho irlandês, que provavelmente manteriam para sempre. A virilidade irlandesa — eis a loucura obstinada que os tomava a todos. Chamavam uns aos outros «Harpas» e «Burros», os irlandeses. Burros! Eram eles próprios quem usava essa palavra, com um orgulho que era uma espécie de confissão. Eles compreendiam o sentido do termo. A coragem irlandesa não era a coragem do leão mas a coragem do burro. Um polícia ou um procurador-adjunto dos Homicídios, por muito estúpidas que fossem as embrulhadas em que se metia, nunca recuava. Aguentava a pé firme. Era isso que era temível, mesmo nos mais ínfimos e insignificantes membros da raça. Assim que tomavam uma posição, mostravam-se dispostos a lutar por ela. Quem quisesse tratar com eles tinha de se dispor também a lutar, e não há assim tanta gente neste triste mundo que esteja pronta a lutar com a mesma facilidade. O outro aspecto era a lealdade. Quando um deles se metia em sarilhos, os outros cerravam fileiras. Bom, isto nem sempre era inteiramente verdade, mas as coisas tinham que ir bastante longe antes que os irlandeses se prestassem a denunciar um camarada. Com os polícias era assim, e com os procuradores-adjuntos dos Homicídios também era quase sempre assim. A lealdade era a lealdade, e a lealdade irlandesa era um monolito, uma coisa indivisível. O código de honra do Burro! E cada judeu, cada italiano, cada negro, cada porto-riquenho internacionalizava esse código e convertia-se ele próprio num perfeito Burro. Os irlandeses gostavam de contar uns aos outros as suas histórias de guerra, por isso quando o Burro Fitzgibbon e o Burro Goldberg se punham assim a ouvir o Burro Martin, só lhes faltava uns copos para poderem completar o quadro apanhando uma bebedeira sentimental ou uma bebedeira irascível e brutal. Não, pensou Kramer, eles não precisam de álcool. Para os embriagar basta a ideia de serem uns filhos da mãe duros como aço e sem ilusões.
— Perguntei a um dos porteiros o que era aquilo — disse Martin. — Tínhamos imenso tempo. O tal sacana do McCoy deixou-nos um quarto de hora a secar na entrada do prédio. Bom, o tipo lá me explicou que em cada andar, ao lado do elevador, há dois botões. Um é para chamar o elevador, e o outro é para os táxis. Carrega-se no botão, e aquele idiota corre para a rua a apitar e a abanar os braços. Depois lá acabamos por entrar no elevador, e de repente eu lembro-me que não sei em que andar é que o sacana do homem mora. Por isso ponho a cabeça de fora e pergunto ao porteiro: «Em que botão é que carrego?» E ele diz-me: «Deixe estar, que nós fazemo-lo subir até lá.» Nós fazemo-lo subir. Uma pessoa pode carregar nos botões que quiser dentro do elevador que não ganha nada com isso. Um dos porteiros tem de carregar num botão do painel que há junto à porta da entrada. Mesmo que um gajo viva na merda do prédio, se quiser ir visitar outra pessoa não lhe basta entrar no elevador e carregar num botão qualquer. Não é que me pareça que naquele género de prédio as pessoas passem por casa umas das outras só para darem dois dedos de conversa, mas enfim... Bom, mas o tal McCoy vive no décimo andar. Abre-se a porta e sai-se para uma espécie de salinha. Não é um átrio, é uma sala pequena só com uma porta. Naquele andar o elevador é só para o apartamento do gajo!
— Você tem vivido uma vida resguardada, Marty — disse Bernie Fitzgibbon.
— Não tem sido é resguardada que chegue, se quer saber — disse Martin. — Tocamos a campainha, e abre-nos a Porta uma criada de uniforme, uma porto-riquenha, ou sul-americana, ou coisa assim. Haviam de ver o átrio de entrada, é só mármores e madeiras exóticas e uma grande escadaria a subir assim, tal e qual como nos filmes, porra! Bom, ficamos um bocado ali especados no chão de mármore, até que o gajo acha que já nos fez esperar o tempo suficiente e começa a descer a escada, muito devagar, com a merda do queixo —juro por Deus! — com a merda do queixo espetado no ar. Topaste a figura do gajo, Davey?
— Topei, pois — disse Goldberg. E fungou com ar divertido.
— Como é que o tipo é? — perguntou Fitzgibbon.
— Alto, de fato cinzento, queixo espetado — a figura típica dos gajos da Wall Street. Bem parecido, aí com os seus quarenta anos.
— Como é que ele reagiu à vossa presença?
— A princípio parecia bastante descontraído — disse Martin. — Convidou-nos a entrar para a biblioteca — acho que devia ser a biblioteca. Não era uma sala muito grande, mas havia de ter visto os enfeites que havia nas paredes, a toda a volta, rente ao tecto, porra! — Fez um gesto circular com a mão. — Foda-se, uma data de homenzinhos esculpidos em madeira, a andar como se fosse na rua, sobre um fundo de lojas e casas e tudo o que se possa imaginar. Nunca vi nada assim. Bom, sentamo-nos muito bem sentados e eu começo a explicar que andamos a fazer um controlo de rotina dos carros da marca tal, com a matrícula tal, e por aí fora, e ele diz-me que sim, que ouviu falar no caso na televisão, e que tem, sim senhor, um Mercedes com a matrícula começada por R, e que é uma coincidência incrível... e, bom eu ponho-me a pensar cá comigo: mais um nome para riscar nesta estúpida lista que nos deram para as mãos. Quer dizer, se eu me pusesse a pensar em pessoas capazes de andar a passear de carro à noite no Bruckner Boulevard, em pleno Bronx, aquele gajo era de certeza o último que me passava pela cabeça. Caramba, eu estava praticamente a pedir desculpa ao tipo por lhe estarmos a fazer perder o seu tempo. E então eu perguntei-lhe se podíamos dar uma olhadela ao carro, ele quis saber quando, eu disse «agora», e pronto, não foi preciso mais nada. Quer dizer, se ele tivesse respondido: «Está na oficina», ou «a minha mulher saiu com ele», acho que nem nos dávamos ao trabalho de lá voltar para ver o carro, tão improvável nos parecia que fosse ele. Mas o tipo fica-me com uma destas caras de enterro, de lábios a tremer, e põe-se a dizer que não sabe... que há o problema da rotina... foi sobretudo a cara dele. Olhei para Davey, ele olhou para mim, e estávamos os dois a pensar a mesma coisa. Não foi, Davey?
— Foi. De repente, deu-lhe o medo. Via-se o medo a tomar conta dele.
— Já tenho visto outras pessoas ficarem assim — disse Martin. — Ele não está nada satisfeito com esta história toda. No fundo, não é mau tipo. Tem um ar um bocado enfatuado, mas não deve ser má pessoa. Tem uma mulher e uma filha. Tem aquele apartamento do caraças. E não tem estômago para se aguentar numa história destas. Não tem estômago para estar do lado errado da lei. Toda a gente, por muito importante que seja, há-de ter pelo menos um momento na vida em que se vê do lado errado da lei; e se algumas pessoas têm estômago para isso, outras não têm.
— Ele não teve estômago foi para te ver sentado na secretária dele, porra! — disse Goldberg, rindo.
— Na secretária?
— É verdade — disse Martin, rindo ao recordar-se da cena. — Bom, quando eu comecei a ver o tipo a ir-se abaixo, disse cá para comigo: «Ora bolas, ainda não lhe li os direitos, é melhor tratar disso agora.» Tentei ser o mais natural possível, disse-lhe que agradecíamos imenso a colaboração dele, mas que ele não era obrigado a dizer nada se não quisesse, e que tinha direito a um advogado, e por aí fora, e então pus-me a pensar: como é que eu vou dizer a um tipo destes «Se não puder pagar a um advogado, o Estado coloca um ao seu dispor, gratuitamente», como é que vou dizer isto sem forçar a nota quando só a merda do friso da parede custou mais do que um advogado do artigo 18ganha num ano? Portanto resolvi, pelo sim pelo não, fazer a velha manobra de intimidação e pus-me de pé ao lado dele — estava o tipo sentado diante de uma grande secretária — a olhar para ele como se dissesse: «Não te vais acagaçar e ficar muito caladinho só porque eu te estou a dizer quais são os teus direitos, pois não?»
— Foi muito pior que isso — disse Godberg. — O que o Marty fez foi sentar-se na beira da secretária do homem, porra!
— E o que é que ele fez? — perguntou Fitzgibbon.
— A princípio, nada — disse Martin. — Ele percebeu que alguma coisa se tinha passado, porque não há nenhuma maneira elegante de uma pessoa dizer «A propósito», e desatar a ler os direitos a um gajo como se fosse o melhor dos passatempos. Mas o tipo ficou baralhado. Cada vez arregalava mais os olhos. Pôs-se a desconversar como um filho da mãe. Depois levantou-se e disse que queria falar com um advogado. O mais engraçado é que o tipo se foi abaixo quando lhe perguntámos se podíamos ver o carro, e o carro não tem nada. Nem uma única marca.
— Como é que deram com o carro?
— Foi simples. Ele disse que o tinha numa garagem. E eu pensei: se eu tivesse tanto dinheiro como este filho da mãe, punha o carro na garagem mais próxima. Por isso perguntei ao porteiro onde é que ficava a garagem mais próxima. Só isso. Nem sequer falei no McCoy.
— E na garagem mostraram-vos o carro assim sem mais nem menos?
— Eu mostrei o meu distintivo, e o Davey plantou-se do outro lado do gajo a olhar para ele como se lhe quisesse bater. Sabe, um judeu bruto tem um ar muito mais bruto que um irlandês bruto.
Goldberg ficou com um ar feliz. Considerava aquilo como um grande elogio.
— O tipo perguntou: «Qual dos carros?» — disse Goldberg. — Ficámos a saber que o nosso homem tinha dois carros na garagem, o Mercedes e uma station Mercury, e paga-se 410 dólares por mês para se ter lá um automóvel. Está lá escrito na parede. Oitocentos e vinte dólares por mês por dois carros. São mais duzentos do que eu pago pela minha casa de Dix Hills, porra!
— E então o tipo mostrou-vos o carro? — perguntou Fitzgibbon.
— Explicou-nos onde ele estava e disse: «Fiquem à vontade» — disse Goldberg. — Fiquei com a ideia que ele não morre de amores pelo McCoy.
— Pelo menos não fez esforço nenhum para o proteger. — disse Martin. — Perguntei-lhe se o carro tinha sido usado na terça-feira da semana passada e ele disse que sim, que até se lembrava muito bem. O McCoy saiu por volta das seis e tornou a aparecer por volta das dez, todo roto e amarrotado.
— É agradável ter assim pessoas sempre prontas a proteger-nos — disse Goldberg.
— Vinha sozinho? — perguntou Fitzgibbon.
— Foi o que o tipo nos disse — respondeu Martin. ,
— E vocês acham mesmo que foi o gajo?
— Achamos, sim.
— Muito bem — disse Fitzgibbon — e como é que avançamos a partir daí?
— Alguma coisa já avançámos — disse Martin. — Sabemos que ele se serviu do carro nessa noite.
— Dêem-nos mais vinte minutos com o filho da mãe que a gente saca o resto — disse Goldberg. — Ele já está cheio de cagaço, portanto...
— Se fosse a vocês não contava muito com isso — disse Fitzgibbon. — Mas podem tentar. Quer dizer, tudo o que nós sabemos continua a não valer a ponta de um chavelho. Não temos testemunhas. O miúdo, a vítima, não nos pode dizer nada. Nem sequer sabemos onde é que a coisa se passou. E ainda por cima, o miúdo deu entrada no hospital na noite do acidente e não disse a ninguém que tinha sido atropelado.
Uma pequena luz começava a raiar. Kramer interrompeu: — Talvez ele já estivesse meio abananado. — Irradiava enfim alguma claridade deste caso, que talvez afinal não fosse um caso de merda. — Sabemos que ele apanhou uma pancada forte na cabeça.
— Talvez — disse Fitzgibbon — mas só com base nisso não posso avançar, e garanto-vos que o Abe agora vai querer por força avançar. Não gostou nada da manifestação de ontem, JUSTIÇA DE WEISS É JUSTIÇA DOS BRANCOS, e tudo O mais. Apareceu em todos os jornais, e a televisão também lá esteve.
— E foi uma grandecíssima palhaçada — disse Goldberg. — Nós também lá estivemos. Duas dúzias de manifestantes, metade deles os tarados do costume, aquela Reva Não Sei Quantos e os seus anõezinhos, e os outros todos eram basbaques.
— Experimente dizer isso ao Abe. Ele viu a reportagem na televisão, como toda a gente.
— Bom, eu estou a pensar numa coisa — disse Kramer. — Talvez se possa obrigar esse tal McCoy a confessar metendo-lhe um susto.
— Um susto?
— Pois. Quer dizer, eu estou só a pensar em voz alta... mas talvez, se divulgássemos a história...
— Divulgar a história? — disse Fitzgibbon. — Estás a gozar? Divulgar como? O tipo acagaçou-se quando dois polícias lhe apareceram em casa a interrogá-lo, e serviu-se do carro na noite em que o miúdo foi atropelado. Sabes o que é que isso tudo somado nos dá? Nada.
— Eu disse que estava só a pensar alto...
— Bom, está bem, mas então faz-me um favor. Não penses alto essas coisas diante do Abe. Ele é muito capaz de te tomar à letra.
A Reade Street era uma dessas velhas ruas nas imediaÇões dos tribunais e do City Hall. Era uma rua estreita, e os edifícios de ambos os lados, prédios de escritórios e instalações de indústrias ligeiras com pilares e arquitraves de ferro fundido, mantinham-se numa obscuridade triste, mesmo num dia luminoso de Primavera, como aquele. Gradualmente, os edifícios daquela zona, conhecida por TriBeCa, abreviatura de «Triangle Below Canal Street» (1), iam sendo renovados e convertidos em prédios de escritórios ou apartamentos, mas a zona conservava qualquer coisa de irreduti-velmente pardo e lúgubre. No quarto andar de um velho edifício de pilares de ferro fundido, Sherman percorria um corredor pavimentado de azulejos sujos.
A meio do corredor viu uma placa de plástico onde estavam gravados os nomes DERSH KIN, BELLAVITA, FISH-BEIN & SCHLOSSEL. Sherman abriu a porta e entrou num vestíbulo minúsculo, envidraçado, onde reinava uma luz crua, ocupado por uma mulher latino-americana sentada atrás de uma divisória de vidro. Sherman deu o seu nome e pediu para falar com Mr. Killian; a mulher carregou num botão de campainha. Uma porta de vidro dava para uma sala maior e ainda mais luminosa, de paredes brancas. As luzes do tecto eram tão fortes que Sherman conservou a cabeça baixa. Um tapete de corda cor de laranja, de fabrico industrial, cobria o chão. Sherman semicerrava os olhos, para se proteger daquela implacável chuva de watts. À sua frente, em cima do chão, distinguiu aquilo que lhe pareceu ser a base de um sofá. A base era de fórmica branca, e sobre ela repousavam almofadas de couro castanho claro. Sherman sentou-se, e o rabo escorregou-lhe imediatamente para a frente. O assento parecia inclinado no sentido errado. As omoplatas embateram-lhe nas almofadas das costas. Timidamente, ergueu a cabeça. Havia outro sofá em frente do seu. Nele estavam sentados dois homens e uma mulher. Um dos homens vestia um fato de treino azul e branco com dois grandes pedaços de napa azul-eléctrico na parte da frente. O outro homem trazia vestido um casaco comprido de uma pele baça, rugosa, talvez elefante, com ombros tão largos que o faziam parecer gigantesco. A mulher vestia um casaco de couro preto, também muito largo, calças de couro preto, e botas pretas com uma grande dobra debaixo do joelho, à pirata. Todos os três semicerravam os olhos, tal como Sherman. Também eles escorregavam para a frente e se mexiam e contorciam para regressarem à posição inicial, e as suas roupas de couro chiavam e rangiam. Os Fanáticos do Couro.
(1) «Triângulo abaixo da Canal Street». (N. do T.)
Assim apertados uns contra os outros no sofá, pareciam um elefante aguilhoado pelas moscas.
Um homem entrou na recepção vindo de uma sala interior, um homem magro, alto, careca, com sobrancelhas espessas. Vestia camisa e gravata mas não tinha casaco, e trazia um revólver num coldre que sobressaía sobre a sua anca esquerda. Endereçou a Sherman o tipo de sorriso vago que o médico endereça aos doentes na sua sala de espera quando não quer que o detenham. Depois voltou para a sala de onde viera.
Vozes no interior da sala: um homem e uma mulher. O homem parecia empurrar a mulher em direcção à saída. A mulher ia dando passos miudinhos e olhava para ele por cima do ombro. O homem era alto e esguio, e provavelmente não andaria longe dos quarenta anos. Vestia um casaco assertoado, azul-marinho, um lenço de pescoço azul-claro e uma camisa às riscas de colarinho branco. O colarinho era grande demais, o que, para Sherman, era uma característica própria dos vigaristas e espertalhões. Tinham um rosto magro, que se poderia dizer delicado se não fosse o nariz, que parecia partido. A mulher era jovem, vinte e cinco anos no máximo, toda seios, lábios vermelho-vivo, cabelo esvoa-çante e pesada maquilhagem, emergindo de uma camisola de gola alta preta. Vestia também calças pretas e equilibrava-se em cima de um par de sapatos de saltos muito altos e finos. A princípio as vozes dos dois eram abafadas. Depois a mulher elevou a voz e o homem baixou a sua. Era a situação clássica. O homem quer limitar-se a uma discussão calma e privada, mas a mulher decide jogar um dos seus trunfos, que consiste em Fazer uma Cena. Há a Cena, e há também as lágrimas. Aquilo era a Cena. A voz da mulher elevou-se cada vez mais, até que a do homem acabou também por subir de tom.
— Mas tem que me ajudar — dizia a mulher.
— Não tenho, não senhor, Irene.
— E o que é que quer que eu faça? Que me vá matar?
— Queria que pagasse as suas contas, como toda a gente — disse ele, imitando-lhe o modo de falar. — Já me está a dever metade dos meus honorários. E ainda me vem pedir para fazer coisas que podem levar à minha expulsão da Ordem.
— Você está-se nas tintas, é o que é.
— Não me estive sempre nas tintas, Irene, mas agora estou. Você continua a não pagar as suas contas. Não olhe Para mim dessa maneira. Agora arranje-se sozinha.
— Mas tem que me ajudar! E se me tornam a prender?
— Devia ter pensado nisso antes, Irene. O que é que eu lhe disse da primeira vez que entrou neste escritório? Disse-lhe duas coisas. Disse-lhe: «Irene eu não vou ser seu amigo, vou ser seu advogado. Mas vou fazer mais por si do que os seus amigos.» E também lhe disse: «Irene, sabe porque é que eu faço isto? Faço isto por dinheiro» E no fim disse-lhe: «Irene, lembre-se destas duas coisas.» É ou não é verdade? Eu não lhe disse isto?
— Não posso voltar para lá — disse ela. Baixou as suas pesadas pálpebras pintadas em tons de crepúsculo tropical, depois baixou também a cabeça. O lábio inferior tremia-lhe; a cabeça, o cabelo esvoaçante e os ombros eram sacudidos por soluços.
As lágrimas.
— Oh, por amor de Deus, Irene! Pare com isso. As lágrimas.
— Bom, está bem. Olhe... Vou ver se descubro se há alguma queixa contra si com base no artigo 221-31, e represento-a no tribunal caso torne a ser citada, mas é a última vez, previno-a.
As lágrimas! — vitoriosas mesmo ao fim de todos estes milénios. A mulher fez que sim com a cabeça, como uma criança arrependida. Saiu, atravessando a sala de espera excessivamente iluminada. Ao andar bamboleava o traseiro enfiado nas calças pretas de tecido brilhante. Um dos Fanáticos do Couro olhou para Sherman e sorriu, de homem para homem, dizendo: — Ay, caramba (1).
Naquele terreno estranho, Sherman sentiu-se obrigado a retribuir o sorriso.
O vigarista entrou na sala de espera e disse: — Mr. McCoy? Eu sou Tom Killian.
Sherman pôs-se de pé e apertou-lhe a mão. O aperto de mão de Killian não era muito firme; Sherman lembrou-se dos dois detectives. Seguiu atrás de Killian por um corredor onde reinava a mesma luz crua.
O gabinete de Killian era pequeno, moderno e sombrio. Não tinha janelas. Pelo menos ali não havia luz a mais. Sherman olhou para o tecto. Dos nove projectores nele instalados, sete tinham as lâmpadas fundidas ou não tinham lâmpada.
Sherman disse: — As luzes, lá fora... — Abanou a cabeça e não se deu ao trabalho de concluir a frase.
(1) em espanhol no original. (N. do T.)
— Pois é, eu sei — disse Killian. — É o que dá foder com a decoradora que se contratou. O tipo que arrendou este prédio arranjou uma fulana que chegou aqui e achou isto muito escuro. E desatou a instalar luzes e mais luzes. O raio da mulher sofria da febre da luz eléctrica. Com isto tudo, queria que os apartamentos fizessem lembrar Key Biscayne. Foi o que ela disse.
Sherman não ouviu nada a seguir a «foder com a decoradora». Na sua qualidade de Senhor do Universo era para ele um motivo de orgulho masculino ser capaz de abarcar todos os aspectos da vida. Mas agora, como acontecera antes dele a tantos outros americanos respeitáveis, começava a descobrir que esses Aspectos Todos da Vida tinham cores muito mais vivas quando vistos da plateia. Foder com a decoradora. Como é que ele podia permitir que uma decisão que ia afectar toda a sua vida fosse tomada por uma pessoa daquelas, numa atmosfera daquelas? Telefonara para a Pierce & Pierce a dizer que estava doente — a mais coxa, a mais fraca, a mais lamentável das pequenas mentiras — de modo a poder deslocar-se àquele subúrbio piolhoso do mundo do direito.
Killian apontou para uma cadeira, uma cadeira moderna de armação curva, cromada e estofo vermelho-da-china; Sherman sentou-se. As costas eram demasiado baixas. Não havia maneira de adquirir uma posição confortável. A cadeira de Killian, atrás da secretária, não parecia muito melhor.
Killian soltou um suspiro e tornou a revirar os olhos. — Ouviu a conversa que eu tive com a minha cliente, Miss... — Desenhou uma curva no ar com a mão em concha.
— Ouvi, sim.
— Pois bem, tem aí um bom exemplo das formas básicas do direito criminal, com todos os elementos essenciais. — Que sotaque! A princípio Sherman julgou que o homem falava assim para imitar a mulher que acabava de sair. Depois percebeu que o sotaque não era dela. Era do próprio Killian. O dandy janota que estava sentado à sua frente falava com o sotaque das ruas de Nova Iorque, cheio de consoantes omitidas e de vogais torturadas. Apesar disso, conseguira melhorar um ou dois furos a disposição de Sherman, ao deixar implícito que sabia que Sherman era estranho àquele mundo do direito criminal e vivia num nível muito superior a tudo aquilo.
— Que tipo de caso é? — perguntou Sherman.
— Droga. Se não fosse isso, onde é que ela ia arranjar dinheiro para pagar a um advogado durante oito semanas? — E depois, sem qualquer transição, acrescentou: — O Freddy falou-me do seu problema. Também já tinha lido as notícias dos tablóides sobre o caso. O Freddy é uma excelente pessoa, mas tem demasiada classe para ler os tablóides. Eu lei-os. Porque é que não me conta o que realmente se passou?
Para sua grande surpresa, depois de começar Sherman não teve a menor dificuldade em contar a sua história naquele lugar, àquele homem. Como um padre, como um confessor, aquele dandy de nariz de boxeur pertencia a uma categoria diferente da sua.
De vez em quando um intercomunicador de plástico sobre a secretária de Killian emitia um bip electrónico e a voz da recepcionista, onde era perceptível um certo sotaque latino-americano, dizia: «Mr. Killian... Mr. Scanesi na linha 3 —0», ou «Mr. Rothblatt na linha 3 — 1»; Killian respondia: «Diga-lhe que eu telefono mais tarde», e Sherman retomava o seu relato. Mas a dada altura o aparelho fez bip e a voz disse: «Mr. Leong na linha 3.
— Diga-lhe... não, eu atendo. — Killian fez um gesto displicente com a mão direita, como se dissesse: «Isto não é nada comparado com o assunto de que estamos a falar, mas vou ter de dar um segundo de atenção a esta pessoa.»
— Eiii!ii, Lee — disse Killian. — Como vai isso?... A sério?... Hei, Lee, ainda agora estava a ler um livro sobre si... Bom, não é sobre si mas é sobre os Leongs... Então eu ia inventar uma coisa destas? Julga que eu estou interessado em apanhar alguma facada nas costas?
Sherman foi ficando cada vez mais irritado. Mas, ao mesmo tempo, sentia um certo respeito. Aparentemente, Killian representava um dos réus do escândalo eleitoral de Chinatown.
Finalmente, Killian desligou, voltou-se para Sherman e disse: — Portanto, você tornou a pôr o carro na garagem, trocou meia-dúzia de palavras com o empregado e foi a pé para casa. — Isto foi, sem dúvida, para mostrar que a interrupção não o tinha feito perder o fio à meada.
Sherman prosseguiu, concluindo com a visita dos dois detectives, Martin e Goldberg, ao seu apartamento.
Killian inclinou-se para a frente e disse: — Muito bem. A primeira coisa que você vai meter na cabeça é que, de hoje em diante, tem de aprender a calar a boca. Percebe? Não tem nada a ganhar, nada, em andar a falar disto a outras pessoas, sejam lá elas quem forem. A única coisa que consegue com isso é ser enrolado como foi por esses dois polícias.
— O que é que eu havia de fazer? Eles estavam no prédio. Sabiam que eu estava em casa. Se me recusasse a falar com eles, isso seria um indício claro de que tinha alguma coisa a esconder.
— Bastava ter-lhes dito: «Meus senhores, tive muito prazer em conhecê-los, vocês têm de fazer a vossa investigação, mas como eu não tenho experiência absolutamente nenhuma neste domínio peço-lhes que se dirijam ao meu advogado, muito boa tarde, tenham cuidado não vá a maçaneta da porta bater-vos nas costas quando saírem.
— Mas mesmo assim...
— Sempre era melhor do que o que aconteceu, não acha? Provavelmente eles ficavam a pensar: «Ora aqui temos um figurão da Wall Street demasiado ocupado ou demasiado superior para falar com gente como nós, e que tem quem faça isso por ele». Essa atitude não o prejudicava em nada, pode crer. De hoje em diante é assim que tem de se comportar. — E, desatando a rir: — Então o tipo pôs-se a ler-lhe os direitos, hã? Gostava de ter visto isso. O pobre sacana provavelmente vive numa vivenda geminada em Massapequa, apanha-se ali sentado num apartamento da Park Avenue e tem de o informar de que, se não tiver dinheiro para pagar a um advogado, o Estado coloca um ao seu dispor. O tipo tem mesmo de ler aquela história toda.
Sherman sentiu-se gelar ante o ar de desprendimento divertido daquele homem. — Está bem — disse — mas o que é que isso quer dizer?
— Quer dizer que eles andam à procura de indícios que lhes permitam avançar com uma acusação.
— De que tipo?
— O quê, os indícios ou a acusação?:
— Que tipo de acusação?!
— Há várias possibilidades. Partindo do princípio de que o Lamb não morre — Sherman notou que ele conjugava mal o auxiliar do —, a acusação será de que pôs em risco a vida de terceiros.
— Isso é a mesma coisa que «condução perigosa»?
— Não, isto que eu disse é um crime, e a condução Perigosa não é. Um crime bastante grave, aliás. Ou então, se quiserem levar as coisas ainda mais longe, podem arranjar uma teoria que implique a acusação de «agressão com uma arma perigosa», que neste caso seria o carro. Se o Lamb Correr, isso cria mais duas possibilidades. A primeira é homicídio involuntário, e a segunda é homicídio por negligência criminosa, embora durante todo o tempo que eu passei lá na Procuradoria nunca tenha ouvido falar de uma acusação dessas a não ser nos casos em que o condutor ia embriagado. Além de tudo isto há o abandono da cena do acidente e o facto de não ter participado à Polícia. Ambas as coisas são consideradas crimes.
— Mas se eu não ia a guiar o carro no momento em que o indivíduo foi atropelado, como é que eles me podem acusar a mim de todas essas coisas?
— Antes de chegarmos aí, deixe-me explicar-lhe uma coisa. Talvez eles não o possam acusar nem a si nem a ninguém.
— Ah, sim? — Sherman sentiu todo o sistema nervoso mais alerta ante este primeiro sinal de esperança.
— Você examinou o seu carro com atenção, não foi? Não tinha amolgadelas, nem sangue, nem pedaços de tecido agarrado, nem vidros partidos, pois não?
— Não.
— É bastante evidente que o miúdo não apanhou uma pancada muito forte. Na urgência do hospital trataram-lhe um pulso partido e deixaram-no ir para casa, não foi?
— Foi.
— A verdade é que você nem sequer sabe se o atropelou ou não...
— Bom, ou ouvi um baque.
— No meio da confusão da cena que me contou, isso podia ter sido outra coisa qualquer. Sim senhor, ouviu um baque. Mas não viu nada. No fim de contas, não sabe o que se passou, pois não?
— Bom... isso é verdade.
— Já começa a perceber porque é que eu não quero que fale com ninguém?
— Percebo.
— E é mesmo com ninguém. O.K.? Bom. Agora outra coisa. Talvez não tenha sido o seu carro a atropelá-lo. Já lhe passou pela cabeça essa possibilidade? Talvez nem sequer tenha sido um carro. Você não sabe E eles também não sabem, a Polícia não sabe. Estes artigos dos jornais são muito esquisitos. Fizeram este barulho todo, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo onde é que este suposto atropelamento e fuga aconteceu. No Bruckner Boulevard. O Bruckner Boulevard tem cinco milhas de comprimento! Eles não têm testemunhas. O que o miúdo disse à mãe não tem valor. E não os ajuda nada. — Outra vez o auxiliar mal conjugado.
— Eles não têm uma descrição do condutor. Mesmo que pudessem provar que foi o seu automóvel que o atropelou, não podem prender um carro. Um dos empregados da garagem podia tê-lo emprestado ao sobrinho da cunhada para ele ir ao Fordham Road dar um beijinho de boas-noites à namorada. Eles não sabem. E você não sabe. A verdade é que já aconteceram coisas mais estranhas do que tudo isto que eu lhe estou a dizer.
— Mas imagine que o outro rapaz aparece? Juro-lhe que havia um segundo rapaz, um tipo alto e forte.
— Eu acredito em si. Devia ser uma emboscada. Eles iam mesmo atacá-lo. Sim, ele podia aparecer, mas na minha opinião tem boas razões para não o fazer. A julgar pela história que a mãe contou, o outro miúdo também não falou nele.
— Sim — respondeu Sherman — mas ele pode vir a aparecer. Juro-lhe que começo a achar que é melhor prevenir essa situação, tomando eu a iniciativa, e ir com Maria... com Mrs. Ruskin... à Polícia, para lhes contar exactamente como as coisas se passaram. Quer dizer, eu não percebo nada de direito, mas sinto-me moralmente seguro de que eu e ela tomámos a atitude mais acertada na situação em que nos encontrávamos.
— Eiii!ii! — disse Killian. — Pelos vistos os tipos da Wall Street têm mesmo estofo de jogadores! Ena! Quem diria! — Killian ria. Sherman olhava-o com surpresa. Killian deve tê-lo percebido, porque pôs logo uma cara muito séria. — Faz alguma ideia do que lhe faziam na Procuradoria se lá aparecesse a dizer «Sim, fui eu mais a minha miúda, que vive na Quinta Avenida, no meu automóvel»? Comiam-no vivo, co-mi-am-no vivo!
— Porquê?
— O caso já se transformou numa partida política, e eles não têm nada a que se agarrar. O Reverendo Bacon não pára de vociferar, a televisão já se meteu ao barulho, o City Light gostou tanto da história que não fala de outra coisa, e tudo isto deixa bastante entalado o Abe Weiss, num momento em que as eleições estão à porta. Eu conheço muito bem o Abe Weiss. Para ele o mundo real não existe. Só existe o que vem nos jornais e na televisão. E digo-lhe mais uma coisa. Você não tinha a menor hipótese, mesmo que ninguém soubesse do caso.
— Porquê?
— Sabe o que é que uma pessoa passa o dia inteiro a fazer quando trabalha na Procuradoria? Manda para a
cadeia tipos chamados Tiffany Latour e LeBaron Courtney e Mestaffalah Shabazz e Camilio Rodriguez. Chega-se a um ponto em que se está morto por deitar a unha a alguém com qualquer coisa na bola. E se alguém nos dá para a mão um casalinho como você e Mrs. Ruskin — caramba, que petisco! O homem parecia sentir um horrível entusiasmo nostálgico pela ideia de deitar a mão a semelhantes presas.
— O que é que acontecia?
— Para começar, não havia a menor hipótese de não o mandarem para a cadeia, e, se bem conheço o Weiss, havia de fazer a coisa com bastante espalhafato. Talvez não pudessem mantê-lo preso durante muito tempo, mas só isso já seria extremamente desagradável. E era coisa garantida.
Sherman tentou imaginar a cena. Não foi capaz. Sentiu-se completamente desanimado. Soltou um grande suspiro.
— E agora, está a ver porque é que eu não quero que fale disto a ninguém? Já vê melhor a situação?
— Já.
— Mas ouça, eu não estou a tentar deprimi-lo. Por enquanto a minha tarefa não é defendê-lo, é evitar que você chegue ao ponto de precisar de ser defendido. Isto, partindo do princípio que você quer que eu o represente. Por agora nem sequer lhe vou falar de honorários, porque ainda não sei o que é que a coisa vai envolver. Se tiver sorte, ainda chegamos à conclusão que tudo isto é só fogo de vista.
— Como é que pode chegar a essa conclusão?
— O chefe do Departamento de Homicídios da Procuradoria do Bronx é um tipo com quem eu trabalhei no princípio da minha carreira, Bernie Fitzgibbon.
— E acha que ele lhe diz alguma coisa sobre o caso?
— Acho que sim. Somos amigos. Ele é um Burro, como eu.
— Um burro?
— Um irlandês.
— Mas será prudente dizer-lhes que eu contratei um advogado e estou inquieto com o caso? Não será meter-lhes ideias na cabeça?
— Meu Deus, eles já têm com certeza uma data de ideias na cabeça, e sabem que você está inquieto. Se não estivesse inquieto depois da visita daqueles dois palermas, é porque não regulava muito bem da cabeça. Mas deixe estar que disso trato eu. Você devia era começar a pensar na sua amiga Mrs. Ruskin.
— Isso foi o que o Freddy me disse.
— E tem razão. Se vou ser eu a tratar deste caso, vou querer falar com ela, e quanto mais cedo melhor. Acha que ela estará disposta a fazer um depoimento?
— Um depoimento?
— Um depoimento sob juramento, na presença de testemunhas.
— Antes de falar com Freddy, eu teria dito que sim. Agora já não sei. Se eu tentar convencê-la a fazer um depoimento formal, nessas condições, não sei o que ela me dirá.
— Bom seja como for, eu vou querer falar com ela. Importa-se de lhe dizer isso? Se preferir que seja eu a contactar com ela, não me custa nada telefonar-lhe.
— Não, é melhor ser eu a tratar disso.
— Não se esqueça de lhe dizer também a ela que não ande por aí a falar do caso.
— O Freddy disse-me que você andou na Faculdade de Direito de Yale. Quando é que lá andou?
— No fim dos anos setenta — disse Killian.
— E o que é que achou?
— Não foi mau de todo. É verdade que ninguém percebia nada do que eu dizia. Em Yale é quase a mesma coisa uma pessoa do Afeganistão ou de Sunnyside, Queens. Mas gostei de lá andar. É um lugar agradável. Comparado com o das outras faculdades de direito, o curso não é difícil. Não afogam uma pessoa em pormenores. Dão-nos a perspectiva universitária, a perspectiva geral. Fica-se com uma ideia global das coisas. Nisso os professores de lá são muito bons. Yale é excelente para tudo o que se queira fazer na vida, desde que não seja nada relacionado com esta gente que usa sapatos de ténis, armas de fogo, drogas, e a quem nada importa a não ser o seu prazer ou o seu descanso.
17 - O Banco dos Favores
Pelo intercomunicador veio a voz da secretária: — Tenho em linha Irv Stone, do Canal 1. — Sem dizer uma palavra a Bernie Fitzgibbon, o Milt Lubell ou a Kramer, Abe Weiss interrompeu-se no meio de uma frase e pegou no telefone. Sem qualquer cumprimento ou observação preliminar, disse para o bocal do telefone: — Francamente, já não sei o que é que hei-de fazer convosco. — Era a voz de um pai cansado e desiludido. — Em princípio, vocês são uma cadeia noticiosa da cidade mais importante do país. Não é verdade? E qual é o problema mais grave da cidade mais importante do país? A droga. E qual é a pior das drogas? O crack. Não tenho razão? E nós apresentamos acusações formais contra três dos maiores traficantes de crack do Bronx, e o que é que vocês fazem? Nada... Deixe-me acabar. Levamos os três ao Registo Central às dez da manhã, e onde é que vocês estão? Em parte nenhuma... Tenha calma, uma ova! — Já não era o pai desgostoso. Agora era o vizinho furioso do andar de baixo. — Você não tem desculpa, Irv! Vocês têm é preguiça. Deviam estar com medo de perder algum almoço no Cote Basque. Um belo dia hão-de acordar... o quê? Não me venha com essa, Irv! O único problema desses passadores de droga é serem negros e serem do Bronx! O que é que queria, que eles fossem da família Vanderbilt, ou Astor, ou... ou... ou... ou... Wriston? — Não parecia muito seguro de que os Wriston
existissem. — Um belo dia hão-de acordar e perceber que perderam o comboio. Isto aqui no Bronx é a América, Irv, a América dos nossos dias! E há gente negra na América dos nossos dias, não sei se sabe! Manhattan não passa de uma boutique junto à costa! Isto aqui é a América! Aqui é que fica o laboratório das relações humanas! É aqui que se ensaia o novo modo de viver na cidade!... Que conversa é essa do caso Lamb? Grande coisa, deram cobertura a uma história passada no Bronx. Mas têm alguma quota máxima, ou quê? Desligou. Sem se despedir. Voltou-se para Fitzgibbon, que estava sentado um pouco para a esquerda da enorme secretária do procurador. Kramer e Lubell estavam cada um a seu lado de Fitzgibbon. Weiss ergueu as mãos no ar, como se segurasse uma bola acima da cabeça.
— Passam o tempo a falar de crack, mas agora que nós levamos a tribunal três dos maiores traficantes, ele diz-me que isso não dá uma reportagem, que é uma coisa de rotina.
Kramer deu por si a abanar a cabeça para mostrar como o entristecia a obstinação dos jornalistas da televisão. O assessor de imprensa de Weiss, Milt Lubell, um homenzinho muito magro, de barba grisalha e olhos grandes, sacudiu a cabeça de uma maneira que traduzia o seu estado de profunda descrença. Só Bernie Fitzgibbon recebeu a notícia sem a menor reacção motora.
— Estão a ver? — disse Weiss. Apontou com o polegar para o telefone sem olhar para ele. — Eu tento falar a este gajo de acusações por tráfico de droga, e ele atira-me à cara o caso Lamb.
O procurador parecia extremamente zangado. Mas, também, de todas as vezes que Kramer lhe pusera a vista em cima ele parecia zangado. Weiss tinha uns quarenta e oito anos. O seu cabelo farto era castanho claro; a sua cara, magra e o maxilar, firme e enxuto, com uma cicatriz de um dos lados. Isso não tinha nada de mal. Abe Weiss pertencia a uma longa linhagem de procuradores nova-iorquinos cujas carreiras se baseavam nas suas aparições na televisão, anunciando o último golpe paralisador vibrado no plexo solar do crime da cidade palpitante. Weiss, o bom Capitão Ahab, podia ser objecto de muitas piadas. Mas estava ligado ao Poder, o Poder corria-lhe nas veias, e o seu gabinete, com as paredes apaineladas, a velha mobília de madeira de dimensões descomunais e a bandeira americana num pequeno nicho, era um posto de comando do Poder; e Kramer vibrava de excitação por ter sido convocado para uma cimeira como aquela.
— De uma maneira ou de outra — dizia Weiss — temos de lhes passar à frente neste caso. Porque agora estou numa posição em que não posso fazer outra coisa senão reagir. Você deve ter percebido que isto ia acontecer, Bernie, e não me preveniu. Aqui o Kramer já falou com o Bacon há uma semana, se bem me lembro.
— O problema é precisamente esse, Abe — disse Fitzgibbon. — É que...
Weiss carregou num botão da sua secretária, e Fitzgibbon calou-se, porque era óbvio que o espírito do procurador se afastara para paragens mais longínquas. Estava a olhar para um écran de televisão do outro lado da sala. Sobressaindo da majestosa parede apainelada, como um tumor de alta tecnologia, havia uma fila de quatro televisores e pilhas de caixas metálicas com botões metálicos, mostradores de vidro preto e luzes verdes fluorescentes, no meio de um ninho de fios eléctricos. Filas de videocassettes ocupavam as prateleiras atrás das televisões, onde em tempos houvera livros. Se Abe Weiss ou alguma coisa relacionada com Abe Weiss ou com o crime e castigo no Bronx aparecesse na televisão, Abe Weiss queria ter gravações de tudo. Um dos televisores acendeu-se. Só a imagem, sem som. Uma faixa de pano enchia o écran... JOANESBRONX: JUSTIÇA DE WEISS É JUSTIÇA DO APARTHEID... Depois um conjunto de rostos irados, brancos e negros, filmados de baixo para cima, de modo que pareciam uma enorme multidão.
— Oh, caramba, quem são estes? — perguntou Weiss.
— É o Canal 7 — disse Milt Lubell.
Kramer olhou para Lubell. — Mas o Canal 7 nem sequer lá estava. Só havia o Canal 1. — Disse isto em voz baixa, para que se entendesse que o seu atrevimento só ia ao ponto de falar com o assessor de imprensa do procurador. Não tinha a presunção de intervir na conversa geral.
— Ah, não chegou a ver? — disse Lubell. — Isto foi ontem à noite. Depois de a 1 passar a reportagem, as outras estações interessaram-se pela história. Por isso os tipos organizaram outra manifestação ontem à noite.
— Não pode ser! — disse Kramer.
— Apareceu em cinco ou seis canais. Foi uma jogada inteligente.
Weiss carregou noutro botão da sua secretária, e um segundo écran iluminou-se. No primeiro écran cabeças continuavam a aparecer e desaparecer, a aparecer e desaparecer. No segundo, três músicos de rostos ossudos, com grandes maçãs-de-adão e uma mulher... num beco escuro e
cheio de fumo... a MTV... Uma espécie de zunido... Os músicos fundiram-se numa série de riscos trémulos. A video-cassette começou a girar. Um homem novo, com cara de lua cheia e um microfone debaixo do queixo... diante das torres do bairro Poe... E os adolescentes do costume, aos pulos, no segundo plano.
— Mort Selden, Canal 5 — disse Weiss.
— Pois é — disse Milt Lubell.
Weiss carregou noutro botão. Um terceiro écran iluminou-se. De novo os músicos na rua enfumarada. A mulher tinha lábios escuros... como os de Shelly Thomas... Kramer sentiu percorrê-lo um frémito de puro desejo... Os músicos transformaram-se de novo em riscos tremulantes. Um homem de feições latinas...
— Roberto Olvidado — disse Lubell.
O homem aproximava o microfone do rosto indignado de uma mulher magra. E, segundos depois, havia três conjuntos de cabeças a aparecer e a desaparecer, a aparecer e desaparecer, projectando os reflexos das suas ondas tóxicas na madeira trabalhada.
Weiss disse a Fitzgibbon: — Já viu que nos noticiários de ontem à noite não se falou de outra coisa que não fosse o caso Lamb? E o Milt, hoje de manhã, não fez outra coisa senão atender chamadas de repórteres e dessa maldita gente que telefona para saber o que é que nós estamos a fazer.
— Mas isso é ridículo, Abe — disse Fitzgibbon. — O que é que eles querem que a gente faça? Nós somos a acusação, e a Polícia ainda nem sequer prendeu ninguém.
— O Bacon é muito engraçado — disse Lubell. — Muito engraçado. Eu cá acho-lhe imensa graça. Anda para aí a dizer que a Polícia falou com a mãe do miúdo e que nós falámos com a mãe do miúdo e, por uma razão qualquer que ninguém percebe qual seria, resolvemos conspirar para não fazer nada. Nós não queremos saber da gente negra dos bairros sociais.
Nesse momento, Weiss lançou a Kramer um olhar terrível. Kramer ficou hirto.
— Kramer, gostava que me explicasse uma coisa. Você disse mesmo à mãe do miúdo que a informação que ela nos deu era inútil?
— Não, senhor, claro que não fiz uma coisa dessas! — Kramer apercebeu-se de que o tom da sua resposta fora um pouco exaltado de mais. — A única coisa que lhe disse foi que o que ela sabia por intermédio do filho não tinha valor legal, em termos de uma futura acusação. Disse-lhe que o que era preciso era ter testemunhas, e que ela devia comunicar-nos imediatamente se soubesse de alguém que tivesse visto o que aconteceu. Foi só isso. Não lhe disse que as informações dela eram inúteis. Muito pelo contrário. Não sei como é que puderam deturpar dessa maneira aquilo que eu disse.
E, enquanto falava, ia pensando: Porque é que eu fui armar em duro com a mulherzinha? Só para impressionar o Martin e o Goldberg, não fossem eles pensar que eu estava a ser brando de mais! Só para eles me considerarem um irlandês de gema! Porque é que não fui antes um judeu bom e simpático? Pelo menos não tinha arranjado esta linda embrulhada... Perguntava a si mesmo se Weiss iria afastá-lo do caso.
Mas Weiss limitou-se a acenar tristemente com a cabeça e a dizer: — Poise, eu sei... Mas daqui para a frente lembre-se que nem sempre podemos ser lógicos com... — Resolveu deixar a frase a meio. Tornou a olhar para Fitzgibbon. — O Bacon pode dizer tudo o que lhe vem à cabeça, e eu tenho de ficar aqui sentado a dizer: «Estou atado de pés e mãos.»
— Espero que perceba, Abe, que essas manifestações são uma perfeita palhaçada. Uma dúzia de homens de mão do Bacon e mais uma ou duas dúzias dos trastes do costume, aqueles tipos do Partido Trabalhista Socialista Monolítico, ou lá o que é. Não é verdade, Larry?
— Na tarde em que lá estive foi assim — disse Kramer. Mas alguma coisa lhe dizia que era melhor não minimizar a importância das manifestações. Por isso apontou para os écrans de televisão e disse: — Mas, pelo que vejo, ontem à noite havia muito mais gente.
— Mas é claro — disse Lubell. — É o que se chama cumprir as profecias que se fazem. Quando uma história assim aparece na televisão e nos jornais todos, as pessoas começam a achar que é uma coisa importante e que merece toda a sua indignação. É cumprir as profecias que se fazem.
— Seja como for — disse Weiss — em que é que nós estamos? O que é que temos contra esse tal McCoy? Esses dois polícias... como é que eles se chamam?
— Martin e Goldberg — disse Fitzgibbon.
— Eles dizem que foi ele, não é?
— Dizem.
— E os tipos são bons?
-
O Martin tem muita experiência — disse Fitzgibbon.
-
Mas não é infalível. Lá porque o gajo ficou todo nervoso, isso não quer dizer necessariamente que tenha feito alguma coisa.
— Park Avenue — disse Weiss. — O velhote dele dirigiu em tempos a Dunning Sponget & Leach. O Milt encontrou o nome dele em duas ou três colunas sociais; e a mulher é decoradora de interiores. — Weiss reclinou-se na cadeira e sorriu, como se sorri ao pensar num sonho impossível. — Pelo menos, acabava-se de vez a conversa da «justiça branca»...
— Abe — disse o balde de água fria irlandês, Fitzgibbon — nós por enquanto não temos nada contra o gajo.
— Há alguma maneira de o fazermos vir aqui para um interrogatório? Nós sabemos que ele se serviu do carro na noite do acidente.
— Ele agora tem um advogado, Abe. O Tommy Killian, ainda por cima.
— O Tommy? Só gostava de saber como é que ele descobriu o Tommy. Como é que você sabe disso?
— O Tommy telefonou-me. Disse que agora representava o gajo. Queria saber porque é que os polícias lhe foram lá a casa fazer perguntas.
— E o que é que você lhe disse?
— Que o carro do tipo corresponde à descrição do carro de que eles andam à procura, por isso tinham de o examinar.
— E o que é que ele disse a isso?
— Disse que a descrição deles não valia nada porque se baseava em coisas ouvidas a terceiros, que não podem confirmá-la.
— E o que é que você disse?
— Disse que tínhamos um miúdo no hospital, às portas da morte, e que os polícias vão investigando com as informações que têm.
— E o estado do rapaz? Há alguma melhoria?
— Não... Continua em coma, na unidade de cuidados intensivos. Só aqueles tubos todos é que o mantém vivo.
— Alguma hipótese de ele recobrar a consciência?
— Pelo que me disseram, isso pode acontecer, mas não quer dizer nada. Ele pode ficar consciente e perder consciência logo no minuto a seguir. Além disso, o rapaz não pode falar. Respira por um tubo que tem enfiado na garganta.
— Mas talvez possa apontar — disse Weiss.
— Apontar?
— Sim. Tive uma ideia. — Um olhar distante; o olhar vago da inspiração. — Levamos ao hospital uma fotografia do McCoy. O Milt encontrou uma numa destas revistas.
Weiss estendeu a Bernie Fitzgibbon uma folha arrancada de um semanário mundano intitulado W. A página era quase toda ocupada por fotografias de pessoas sorridentes. Os homens estavam de smoking. As mulheres eram só dentes e rostos descarnados. Kramer inclinou-se para dar uma espreitadela. Uma das fotografias fora destacada com um círculo a caneta de feltro vermelha. Um homem e uma mulher, ambos sorridentes, de trajo de noite. Olha só para eles. Os WASPs. O homem tinha um nariz comprido e afilado. Tinha a cabeça inclinada para trás, o que fazia sobressair o seu grande queixo patrício. Um sorriso tão confiante... tão arrogante?... A mulher também parecia uma WASP, mas não da mesma maneira. Tinha aquele ar hirto, distinto, cheio de compostura que fazia uma pessoa perguntar imediatamente a si própria o que haveria de errado na sua maneira de vestir ou no que acabava de dizer. A legenda dizia Sherman e Judy McCoy. A fotografia fora tirada numa festa de caridade qualquer. Ali, no piso 6M da ilha fortificada, quando se ouvia um nome como Sherman McCoy, toda a gente partia do princípio que se trataria de um indivíduo negro. Mas aqueles eram os originais, os WASPs. Kramer quase nunca os via a não ser sob aquela forma, em fotografia, e as fotografias mostravam-lhe seres requintados e hirtos, de narizes compridos, seres de um outro planeta a quem Deus, na Sua infinita perversidade, resolvera favorecer. Isto, no entanto, já não era em Kramer um pensamento consciente, formulado por palavras; transformara-se, com o tempo, num reflexo.
Weiss dizia: — Levamos esta fotografia do McCoy e fotografias de mais três ou quatro pessoas, três ou quatro tipos brancos, e pomo-las ao lado da cama do rapaz. Ele volta a si e aponta para a fotografia do McCoy... aponta insistentemente...
Bernie Fitzgibbon fitou Weiss como quem esperasse um indício, um sinal, de que tudo aquilo não passava de uma brincadeira.
— Talvez valha a pena tentar — disse Weiss.
— E quem é que vai testemunhar tudo isso? — disse Fitzgibbon.
— Uma enfermeira, um médico, quem lá estiver na altura. Então nós vamos lá e tomamos nota das declarações do moribundo, para ficar tudo como deve ser.
Fitzgibbon disse: — Como deve ser ? Não quero acreditar no que estou a ouvir, Abe. Um desgraçado com um tubo enfiado nas goelas a apontar para uma fotografia? Ninguém ia aceitar um testemunho desses.
— Eu sei, Bernie. Só queria poder deitar a mão ao gajo.
Depois já podíamos descansar e fazer tudo com a maior das correcções.
— Abe!... Meu Deus do céu! Deixe lá o aspecto legal da coisa por um minuto. Vai pôr uma fotografia de um financeiro da Wall Street e de mais uma data de tipos brancos na mesa de cabeceira do miúdo, que está para ali a morrer? Imagine que ele volta a si, que olha para a merda da mesa, e dá de caras com meia-dúzia de homens brancos de meia-idade, de fato e gravata, ali ao lado a olharem para ele! Aí é que o miúdo bate a bota, pode crer! Vai dizer «Oh, não!» e dar a alma ao criador, porra! Quer dizer, tenha um mínimo de humanidade, Abe!
Weiss soltou um grande suspiro e pareceu esvaziar-se como um balão ante os olhos de Kramer. — Pois é. Tem razão. Era ousado de mais.
Fitzgibbon olhou de soslaio para Kramer.
Kramer nem pestanejou. Não queria deixar transparecer a menor dúvida quanto à sabedoria e prudência do Procurador do Condado do Bronx. O Capitão Ahab estava obcecado pelo caso Lamb e ele, Kramer, ainda tinha esse caso nas suas mãos. Ainda tinha uma hipótese de agarrar essa criatura tão apreciada, tão fugidia e que, no Bronx, chegava a ser quase mítica: o Grande Réu Branco.
Às sextas-feiras as alunas do Colégio Taliaferro acabavam as aulas às 12.30. Isto acontecia muito simplesmente porque a maior parte das raparigas eram de famílias que tinham casas de férias no campo e queriam sair da cidade por volta das 2.00 da tarde, antes da hora de ponta de sexta-feira. Portanto, como de costume, Judy ia partir para Long Island com Campbell, Bonita e Miss Lyons, a ama, na station Mercury. Como de costume, Sherman seguiria para lá no Mercedes nessa noite ou na manhã seguinte, dependendo da hora até que tivesse de ficar na Pierce & Pierce. As visitas mais demoradas a Maria, no seu pequeno esconderijo, tinham-se tornado um hábito regular das noites de sexta-feira.
Durante toda a manhã, da sua secretária na Pierce & Pierce, ele tentou contactar Maria pelo telefone, no apartamento da Quinta Avenida e no esconderijo. Ninguém lhe atendia no esconderijo. No apartamento uma criada afirmava ignorar por completo o seu paradeiro, até mesmo o estado ou país onde se encontrava. Finalmente, o desespero de Sherman foi tão grande que deixou o seu nome e o seu número telefónico. Ela não lhe telefonou.
Estava a evitá-lo! Em casa dos Bavardages dissera-lhe para ele lhe telefonar na noite anterior. Ele ligara e tornara a ligar; ninguém atendera. Estava a cortar todo o contacto com ele! Mas por que motivo, exactamente! Medo? Ela não era do tipo medroso... O facto crucial que o salvaria: ela ia a guiar... Mas, e se ela desaparecesse? Que ideia louca. Ela não podia desaparecer. Na Itália! Podia desaparecer na Itália! Ohhhh!... que disparate. Susteve a respiração e abriu a boca. Ouvia distintamente o seu coração a bater... tch, tch, tch, tch, tch... debaixo do esterno. Os seus olhos desviaram-se do terminal de computador. Não podia deixar-se ficar ali sentado; tinha de fazer alguma coisa. O pior era que só havia uma pessoa a quem ele pudesse pedir conselho, uma pessoa que ele mal conhecia, Killian.
Por volta do meio-dia telefonou a Killian. A recepcionista disse que ele estava no tribunal. Vinte minutos mais tarde Killian telefonou-lhe de uma ruidosa cabina pública e marcou-lhe um encontro à uma hora, no átrio principal do Tribunal Criminal que ficava no número 100 da Centre Street.
Ao sair, Sherman disse a Muriel uma meia-mentira. Disse que ia ter com um advogado chamado Tommy Killian e deu o número de telefone de Killian. A metade de mentira residia na naturalidade com que dissera aquilo, deixando implícito que o ilustre Thomas Killian tinha alguma coisa a ver com os negócios da Pierce & Pierce.
Naquele dia quente de Junho, era fácil ir a pé da Wall Street até ao número 100 da Centre Street. Em todos os anos que vivera em Nova Iorque e trabalhara na Baixa, Sherman nunca reparara no Tribunal Criminal, embora este fosse um dos maiores e mais imponentes edifícios da zona do City Hall. Um arquitecto chamado Harvey Wiley Corbett concebera-o nesse estilo moderno a que agora se chama Art Deco. Corbett, outrora tão famoso, fora esquecido por toda a gente excepto uma meia-dúzia de historiadores da arquitectura; e o mesmo sucedera com toda a controvérsia gerada pela conclusão do edifício do tribunal em 1933. Os ornatos de pedra, latão e vidro da entrada ainda chamavam a atenção, mas quando Sherman chegou ao grande átrio alguma coisa lhe acendeu no cérebro a luzinha que significava perigo. Não saberia dizer o que tinha sido. Mas a verdade é que tinham Sido os rostos negros, os ténis, os anoraks e o Andar do Chulo. Para ele aquilo era como o terminal de autocarro de uma terra chamada Porto Autoridade. Era um terreno estrabo. Em todo aquele vasto espaço, com os tectos muito altos
de uma velha estação de comboios, viam-se cachos de pessoas negras, cujas vozes criavam um grande burburinho nervoso, e na periferia dos grupos de negros andavam homens brancos de fatos baratos ou casacos desportivos, olhando-os como lobos a espiar os movimentos das ovelhas. Mais rostos escuros, de rapazes novos, cruzavam o átrio aos dois e aos três num andar saltitante que desconcertava Sherman. De um dos lados, na penumbra, meia-dúzia de silhuetas de negros e brancos enfiadas numa fila de cabinas telefónicas. Do outro lado, os elevadores engoliam e regurgitavam mais gente negra, e os cachos de rostos negros desfaziam-se, outros se formavam, o burburinho nervoso elevava-se e abrandava, elevava-se e abrandava, e as solas dos ténis chiavam no pavimento de mármore.
Não foi difícil encontrar Killian. Estava próximo dos elevadores com mais uma das suas vestimentas de vigarista, um fato cinzento claro com largas riscas brancas e uma camisa de grande colarinho branco às riscas castanhas fininhas. Falava com um homem branco, baixinho, de meia-idade, que envergava um anorak. Ao aproximar-se, Sherman ouviu Killian dizer: — Um desconto por pagar em dinheiro? Nem pense nisso, Dennis. Não queria mais nada. — O homenzinho respondeu alguma coisa. — Não é nada de muito especial, Dennis. Toda a gente me paga em dinheiro. Metade dos meus clientes nunca chegaram a travar conhecimento com as contas bancárias. Além disso eu pago os meus impostos, porra! Sempre é menos uma coisa para um gajo se preocupar. — Viu Sherman aproximar-se, cumprimentou-o com um aceno de cabeça e depois disse ao homenzinho: — O que é que quer que eu lhe faça? É como lhe digo. Arranje-se para me pagar até segunda. Senão não posso começar a tratar do caso. — O homenzinho seguiu o olhar de Killian até Sherman, disse alguma coisa em voz baixa e depois afastou-se, abanando a cabeça.
Killian disse a Sherman: — Como vai isso?
— Bem, obrigado.
— Já alguma vez aqui tinha estado?
— Não.
— É o maior escritório de advogados de Nova Iorque. Vê aqueles dois gajos ali? — Apontou para dois homens brancos de fato e gravata que vagueavam entre os cachos de gente negra. — São advogados. Andam à procura de pessoas para representar.
— Não percebo.
— É muito simples. Chegam ao pé de uma pessoa e dizem: «Ouça lá, precisa de um advogado?»
— Isso não é «caça ao cliente?»
— Lá isso é. Está a ver aquele tipo ali? — Apontou para um homem baixo com um casaco desportivo berrante, aos quadrados, que estava de pé diante do bloco dos elevadores. — Chama-se Miguel Escalero. Mas chamam-lhe Mickey Elevador. É advogado. Passa ali metade da manhã, e sempre que aparece alguém com um ar latino-americano e miserável ele diz-lhe: «Necesita usted un abogado?» Se o tipo lhe diz: «Não tenho dinheiro para pagar a um advogado», ele responde: «Quanto é que tem aí no bolso?». Se o tipo tiver cinquenta dólares, pronto, arranjou um advogado.
Sherman perguntou: — O que é que se consegue por cinquenta dólares?
— Por cinquenta dólares ele acompanha o tipo numa contestação ou numa citação. Se for preciso trabalhar, trabalhar realmente por conta do cliente, ele já não quer saber do caso. É um especialista. E então, como vai isso?
Sherman contou-lhe as suas vãs tentativas para contactar com Maria.
— Ela deve mas é ter arranjado um advogado — disse Killian. Enquanto falava, ia rodando a cabeça com os olhos semicerrados, como um boxeur a descontrair-se antes de um combate. Sherman achou isto uma falta de educação mas não disse nada.
— E o advogado diz-lhe para não falar comigo.
— Era o que eu lhe diria se ela fosse minha cliente. Desculpe lá, não ligue. Ontem fiz uma meia-dúzia de «pontes» e acho que dei um jeito no pescoço.
Sherman ficou a olhar para ele.
— Eu dantes gostava era de correr — disse Killian — mas de tanto saltitar para cima e para baixo lixei a coluna toda. Por isso agora vou ao New York Athletic Club e levanto pesos. Foi lá que vi uma data de miúdos a fazer «pontes». Acho que estou velho de mais para estas coisas. Mas olhe, vou ver se consigo contactar eu com ela.
— Como?
— Vou pensar numa maneira. Metade do meu trabalho consiste em falar com pessoas que não têm vontade nenhuma de falar comigo. — «Aquele sotaque!»
— Para lhe dizer a verdade — disse Sherman — fiquei muito surpreendido com tudo isto. Maria... Maria não é do tipo cauteloso. É uma aventureira. Uma jogadora. Uma rapariguinha do Sul, vinda do nada, que consegue chegar ao
número 962 da Quinta Avenida... Não sei... E isto pode parecer ingénuo da minha parte, mas acho que ela... sente mesmo alguma coisa por mim. Acho que me tem amor.
— Aposto que também tem bastante amor ao n.º 962 da Quinta Avenida — disse Killian. —Talvez tenha achado que era o momento de parar de correr riscos.
— Talvez — disse Sherman — mas não posso acreditar que ela me fosse desaparecer assim. É claro que ainda só passaram dois dias...
— Se vier a ser preciso — disse Killian — temos lá no escritório uma pessoa que trata destes casos. É um antigo detective da Polícia, do Departamento Criminal. Mas não vale a pena metermo-nos em despesas enquanto não for absolutamente indispensável. E acho que não vai ser preciso. Por enquanto eles não têm nada. Falei com o Bernie Fitzgib-bon. Lembra-se, o tipo de quem lhe falei, do Departamento de Homicídios da Procuradoria do Bronx?
— Já falou com ele?
— Já. A imprensa encostou-os à parede, por isso eles puseram-se a controlar os carros. Só isso. Eles não sabem nada.,
— Como é que pode ter tanta certeza? :
— O que é que quer dizer com isso?
— Como é que pode ter a certeza de que ele lhe diz a verdade?
— Oh, talvez ele não me diga tudo o que sabe, mas não me ia mentir. Não me ia induzir em erro.
— Porquê?
Killian abarcou com o olhar todo o átrio do n.º 100 da Centre Street. Depois tornou a voltar-se para Sherman. — Nunca ouviu falar no Banco dos Favores?
— Banco dos Favores? Não.
— Bom, tudo o que acontece neste edifício, tudo o que acontece no sistema de justiça criminal de Nova Iorque se baseia em favores. Toda a gente faz favores a toda a gente. Sempre que se tem uma oportunidade, faz-se um depósito no Banco dos Favores. Uma vez, mesmo no início da minha carreira, quando eu era procurador-adjunto, apanhei num julgamento um advogado, um tipo mais velho, que conseguiu enrolar-me completamente. Eu não sabia o que havia de fazer. Falei com o meu supervisor, que era irlandês, como eu. Mal eu tinha começado a falar, já ele me estava a levar ao gabinete do juiz. O juiz também era irlandês, um velho de cabelos brancos. Nunca me hei-de esquecer. Entrámos, e a primeira coisa que vemos é o juiz, ao lado da secretária, a jogar com um daqueles mini golfes de ter em casa. Dá-se uma tacada na bola, a bola vai a rolar pelo tapete e em vez de um buraco entra numa espécie de copo de bordas inclinadas. O tipo nem sequer levantou os olhos. Estava muito atento a preparar a tacada. O meu chefe saiu da sala, eu fiquei ali especado, e o juiz disse-me: «Tommy...» Sempre a olhar para a bola de golfe. Tratou-me por Tommy, e eu nunca o tinha visto a não ser lá na sala de audiências. «Tommy», disse-me ele, «tu pareces-me bom rapaz. Ouvi dizer que há um sacana de um judeu que te anda a dar cabo do juízo». Foda-se, eu fiquei de boca aberta. Aquilo era tão pouco regulamentar... quer dizer, fiquei com vontade de me enfiar pelo chão abaixo. Não sabia o que é que havia de dizer. E depois ele disse: «Se eu fosse a ti não me preocupava mais com o assunto, Tommy». Tudo sem sequer levantar os olhos. Então eu disse: «Obrigado, Meretíssimo», e saí da sala. A partir daí, no julgamento, quem enrolou o outro foi o juiz. Sempre que eu me preparava para dizer «Objecção», nem me deixava chegar à segunda sílaba antes de dizer «Aceite». Parecia que eu me tinha transformado num génio, assim, de um dia para o outro. Ora bem, isto foi pura e simplesmente um depósito no Banco dos Favores. Não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer por aquele juiz — pelo menos nessa altura. Um depósito no Banco dos Favores não é quidpro quo. É ir armazenando para o futuro. No direito criminal há muitos terrenos movediços, que uma pessoa não pode evitar; mas quando se faz alguma asneira pode-se arranjar um monte de sarilhos, e é nessas alturas que se precisa de toda a ajuda que se puder conseguir, e o mais depressa possível. Por exemplo, olhe para esses tipos. — Apontou para os advogados que rondavam as pessoas reunidas no átrio e depois para Mickey Elevador. — Todos eles podiam ser presos. Sem o Banco dos Favores, estavam arrumados. Mas quando uma pessoa faz depósitos regulares no Banco dos Favores, fica em condições de fazer contratos. São aquilo que se chama grandes favores, os contratos. E os contratos têm de ser cumpridos.
— Têm de ser cumpridos? Porquê?
— Porque toda a gente aqui nos tribunais acredita no ditado: «Quem semeia ventos, colhe tempestades». O que significa que, se você não me ajudar hoje, eu não o ajudo amanhã. E, quando uma pessoa não confia muito nas suas próprias capacidades, essa ideia mete um bocado de medo.
— Então você pediu um «contrato» ao seu amigo Fitz-gibbon? É assim que se diz?
— Não, o que ele me fez foi só um favor de rotina, uma daquelas coisas que se fazem naturalmente. Por enquanto não há nenhum motivo para fazermos um contrato. A minha estratégia é impedir que as coisas cheguem a esse ponto. Neste momento, acho que o nosso problema é a sua amiga Mrs. Ruskin.
— Continuo a achar que ela há-de entrar em contacto comigo.
— Se isso acontecer, vou-lhe dizer o que é que você faz. Marque um encontro com ela e telefone-me. Nunca me afasto do meu telefone por muito mais de uma hora, mesmo aos fins-de-semana. Acho que você devia tomar as suas precauções antes de se encontrar com ela.
— Precauções? — Sherman pressentiu o que ele queria dizer — e ficou horrorizado.
— Sim. Você devia levar um gravador escondido.
— Um gravador escondido ? — Para lá do ombro de Killian, Sherman tornou a aperceber-se da vastidão e da obscuridade doentia do átrio, das silhuetas escuras no interior das cabinas telefónicas ou vagueando de um lado para o outro com os seus enormes sapatos de ténis, naquele curioso passo saltitante, chegando-se umas às outras nos seus miseráveis tête-à-têtes, e tornou a aperceber-se da figura de Mickey Elevador a passear nas imediações deste rebanho heterogéneo e miserável.
— Não tem nada que saber — disse Killian, pensando, aparentemente, que a preocupação de Sherman se referia ao aspecto técnico da coisa. — Prendemos-lhe o gravador às costas, por baixo da roupa. O microfone fica escondido debaixo da camisa. Não é maior do que a ponta do seu dedo mindinho.
— Ouça, Mr. Killian...
— Trate-me por Tommy. Toda a gente me chama assim.
Sherman calou-se e olhou para o rosto magro do irlandês, emergindo de um grande colarinho britânico. Sentiu-se como se estivesse noutro planeta. Não lhe ia chamar Mr. Killian nem Tommy.
— Esta história preocupa-me — disse — mas não me preocupa assim tanto que eu me vá pôr a gravar, às escondidas, uma conversa com uma pessoa de quem me sinto muito próximo. Portanto é melhor esquecermos tudo isso.
— É perfeitamente legal, no Estado de Nova Iorque — disse Killian — e é uma coisa que toda a gente faz. Você tem todo o direito de gravar as suas próprias conversas. Tanto as conversas telefónicas como as conversas em pessoa.
— O meu problema não é esse — disse Sherman. E ao dizê-lo ergueu involuntariamente, o seu queixo de Yale.
Killian encolheu os ombros. — O.K. Só lhe estou a explicar que é perfeitamente kosher(), e que às vezes é a única maneira de obrigar as pessoas a dizerem a verdade.
— Eu... — Sherman preparava-se para enunciar um grande princípio mas teve medo que Killian se ofendesse. Portanto limitou-se a dizer: — Eu não era capaz de fazer uma coisa dessas.
— Está bem — disse Killian. — Vamos a ver como é que as coisas evoluem. De qualquer maneira, continue a tentar contactar com ela, e telefone-me se conseguir. E eu, pela minha parte, também vou fazer uma tentativa.
Ao sair do edifício, Sherman atentou nos grupos de indivíduos taciturnos que enchiam os degraus. Tantos jovens de ombros curvados! Tantos rostos escuros! Por um instante tornou a ver o rapaz alto e magrinho e o brutamontes. Perguntou a si próprio se seria seguro andar nas imediações de um edifício onde diariamente, a todas as horas, se reuniam tantos réus de processos criminais.
Fallow não conseguia perceber como é que Albert Vogel fazia para desencantar aqueles lugares. O Huan Li era tão pomposo e formal como o Regents Park. Apesar de ficar nas East Fifties, próximo da Madison Avenue, e em plena hora do almoço, o restaurante estava quase silencioso. Podia estar ou não estar dois terços vazio. Era difícil dizer, por causa da obscuridade e dos biombos. O restaurante era todo em reservados, cheio de biombos trabalhados de madeira escura, com inúmeras formas sinuosas esculpidas. A obscuridade era tal que até Vogel, a uns escassos dois pés de distância, no reservado, parecia uma figura de Rembrandt. Um rosto iluminado, um foco de luz que dava um tom branco brilhante à sua velha cabeça de avozinha, um peitilho de camisa seccionado ao meio por uma gravata — e o resto da sua silhueta dissolvia-se na escuridão envolvente. De tempos a tempos, empregados e ajudantes chineses materializavam-se sem ruído, de casacos brancos e laços pretos. Apesar de tudo isto, o almoço com Vogel no Huan Li tinha um importante ponto a seu favor. O americano é que o ia pagar.
(1) Kosher: palavra yiddish que, quando aplicada aos alimentos, significa Que estes foram preparados de acordo com os preceitos judaicos. Daí, por extensão, o sentido mais geral de «legítimo», «permitido». (N. do T.)
Vogel disse: — Tem a certeza que não muda de ideias, Pete? Aqui têm um óptimo vinho chinês. Já alguma vez provou vinho chinês?
— O vinho chinês sabe a rato morto — disse Fallow.
— Sabe a quê?
Rato morto... Fallow não sabia porque tinha dito aquilo. Era uma expressão que ele tinha deixado de usar, e que já nem sequer lhe vinha à cabeça. Agora ele e Gerald Steiner marchavam lado a lado no mundo do jornalismo sensacionalista, graças em parte a Albert Vogel, mas graças sobretudo às suas próprias brilhantes qualidades. Fallow já se dispunha a esquecer a contribuição de Al Vogel para o seu «furo» no caso Lamb. Embirrava com o homenzinho, sempre Pete para aqui, Pete para acolá, e tinha vontade de se rir à custa dele. Em contrapartida, Vogel era a sua ligação a Bacon e a toda aquela gente. Não gostaria muito de ter que lidar com eles por sua própria conta e risco.
— Às vezes, prefiro cerveja para acompanhar a comida chinesa, Al — disse Fallow.
— Sim... estou a ver que sim — disse Vogel. — Psst, faz favor. Faz favor! Caramba, onde é que se meteram os empregados? Não se vê nada aqui dentro.
Uma cerveja seria, realmente, a melhor coisa. A cerveja era praticamente uma bebida de dieta, como o chá de camomila. A ressaca de hoje não era nada grave, uma simples névoa espessa. Não sentia dores; só aquela névoa. Na véspera, graças à sua melhoria de estatuto no City Light, achara ser chegado o momento de convidar para jantar a mais sexy das secretárias do jornal, uma loura de olhos grandes chamada Darcy Lastrega. Tinham ido ao Leicesters, onde Fallow fizera as pazes com Britt-Withers e até com Caroline Heftshank. Tinham acabado por ficar na mesa com Nick Stopping, Tony, St. John, Billy Cortez e algum dos outros. A mesa encontrara muito rapidamente um trouxa cheio de boa vontade, um texano chamado Ned Perch, que de uma maneira ou de outra conseguira fazer uma enorme fortuna, e que tinha comprado montes de pratas antigas em Inglaterra, como não se cansava de referir. Fallow fez, durante bastante tempo, as despesas da conversa, contando aos ocupantes da mesa muitas histórias do bairro social do Bronx, de maneira a informar toda a gente do seu recente sucesso. No entanto, a sua companheira, Miss Darcy Lastrega, não se deixou cativar. Nick Stopping, St. John e todos os outros classificaram-na imediatamente como aquilo que ela era, uma americanazinha burra e sem sentido de humor, e ninguém se deu ao trabalho de falar com ela, que se foi afundando, cada vez mais desalentada, na sua cadeira. Para rectificar esta situação, de vinte em vinte ou de trinta em trinta minutos Fallow voltava-se para ela, agarrava-lhe o braço, encostava a cabeça à dela e dizia num tom que se pretendia apenas meio brincalhão: — Não sei o que é que me deu. Devo estar apaixonado. Não é casada, pois não? — Da primeira vez ela agradeceu-lhe com um sorriso. Da segunda e terceira, não. À quarta vez já lá não estava. Tinha saído do restaurante, e ele nem sequer dera por isso. Billy Cortez e St. John puseram-se a rir, coisa que ele levou bastante a mal. Um passarinho tonto americano — mas mesmo assim era humilhante. Depois de mais três ou quatro copos de vinho, no máximo, Fallow saíra também do Leicesters sem se despedir de ninguém, voltara para casa e adormecera logo a seguir.
Vogel conseguira enfim encontrar um empregado e pedir cerveja. Pedira também pauzinhos. O Huan Li era tão francamente comercial e preocupava-se tão pouco com a autenticidade que as mesas estavam postas com talheres correntes de hotel. Que coisa tão americana, pensar que aqueles chineses sisudos ficariam contentes por se dar preferência aos seus utensílios nacionais... Que coisa tão americana, sentir-se culpado a menos que se lutasse encarniçada-mente com os bagos de arroz e os pedaços de carne empunhando umas coisas que pareciam agulhas de tricotar em ponto grande. Enquanto perseguia na sua tigela um bolinho mais escorregadio, Vogel disse a Fallow: — Então, Pete, diga-me lá a verdade. Eu não lhe tinha dito? Eu não lhe tinha dito que isto ia ser uma grande história?
Não era aquilo que Fallow queria ouvir. Não queria ouvir dizer que a história, o caso Lamb em si, era uma grande coisa. Por isso limitou-se a fazer que sim com a cabeça.
Vogel deve ter captado a sua mensagem muda, porque acrescentou: — Você lançou uma coisa em grande. Pôs esta cidade inteira a falar do assunto. Os artigos que você escreveu... são dinamite, Pete, dinamite.
Lisonjeado, Fallow sentiu um espasmo de gratidão. — Tenho de confessar que fiquei um pouco céptico da primeira vez que conversámos. Mas você é que tinha razão. — Ergueu o copo de cerveja como para fazer um brinde.
Vogel curvou-se até quase enfiar o queixo na tigela, para engolir o bolinho antes que este escorregasse do meio dos pauzinhos. — E o mais importante, Pete, é que isto não é um daqueles escândalos passageiros. Esta história tem a ver com a própria estrutura da cidade, a estrutura de classe, a estrutura racial, a maneira como o sistema está organizado. É por isso que o Reverendo Bacon lhe dá tanta importância. Ele está realmente agradecido pelo que você fez.
Fallow não gostava nada que lhe lembrassem o interesse de proprietário que Bacon tinha no caso. Como quase todos os jornalistas a quem uma história é dada de bandeja, Fallow fazia os maiores esforços para se convencer de que fora ele quem descobrira e dera vida ao barro daquele tema.
— Ele esteve-me a dizer — continuou Vogel — esteve-me a dizer como tinha ficado surpreendido. Afinal de contas, você é inglês, Pete, mas chega aqui e põe logo o dedo na ferida, toca no ponto mais importante, que é o valor de uma vida humana. Será que uma vida negra vale menos que uma vida branca? É isso que torna este caso importante.
Fallow saboreou o mel do elogio durante algum tempo, e depois começou a perguntar-se onde é que o outro queria chegar com aquela dissertação.
— Mas há um aspecto da coisa em que me parece que você podia insistir mais um bocado, e até falei sobre isso com o Reverendo Bacon.
— Ah, sim? — disse Fallow. — E o que é?
— O hospital, Pete. Até agora o hospital tem-se conseguido esquivar com bastante facilidade, se pensarmos no que aconteceu. Dizem que estão a «investigar» como é que o miúdo pode ter lá aparecido com um traumatismo craniano e só lhe terem tratado um pulso partido, mas a gente já sabe como é que estas coisas são. Vão tentar safar-se o melhor que puderem.
— É muito possível — disse Fallow — mas eles insistem que o Lamb nunca lhes disse que tinha sido atropelado.
— Provavelmente o miúdo já não estava muito bom da cabeça nessa altura, Pete! Era precisamente isso que eles deviam ter examinado — o estado geral do doente! Foi o que eu quis dizer quando falei de vidas brancas e de vidas negras. Não, acho que é altura de cair em cima do hospital. E este momento é bom. A história agora esmoreceu um bocadinho, porque os polícias não conseguem encontrar o carro e o condutor.
Fallow não disse nada. Não gostava de se sentir empurrado desta maneira. Depois disse: — Vou pensar no caso. Parece-me que as declarações deles são bastante concludentes, mas vou pensar nisso.
Vogel disse: — Bom, Pete, eu vou ser o mais franco possível consigo. O Bacon já entrou em contacto com o Canal 1 para eles cobrirem este aspecto da questão, mas você é que foi... enfim, o nosso homem, como se costuma dizer, e gostávamos que continuasse à frente do caso.
O vosso homem! Que presunção odiosa! Mas Fallow hesitou em explicar a Vogel como aquilo era ofensivo. Disse apenas: — Que intimidades são essas entre o Bacon e o Canal 1?
— O que é que quer dizer com isso?
— Ele deu-lhes o exclusivo da primeira manifestação.
— Bom... é verdade, Pete. Vou ser o mais franco possível consigo. Como é que soube disso?
— Disse-me o... não sei como é que vocês lhe chamam... o locutor do Canal 1. O Corso.
— Ah! Bom, a verdade é que somos obrigados a trabalhar assim. Os noticiários da televisão dependem por completo das relações públicas. Todos os dias as equipas de televisão esperam que os homens das relações públicas lhes dêem menus de coisas que eles possam filmar, para escolherem algumas. O truque consiste em saber como se lhes há-de chamar a atenção. Eles não são muito empreendedores. Sentem-se melhor seja houver alguma coisa publicada sobre os assuntos.
— Publicada no City Light, por exemplo — disse Fallow.
— Bom... é verdade. Vou ser absolutamente sincero consigo, Pete. Você é um jornalista a sério. Quando estes canais de televisão vêem um jornalista a sério interessar-se por alguma coisa, saltam logo sobre a ocasião.
Fallow reclinou-se na cadeira e bebeu tranquilamente um gole de cerveja, na penumbra tristonha do Huan Li. Sim, o seu próximo golpe seria um artigo desmascarando a fraude que eram os noticiários televisivos. Mas, por enquanto, o melhor era esquecer isso. A maneira como os repórteres da televisão tinham seguido as suas pegadas no caso Lamb... nunca nada o fizera parecer tão bom.
Alguns minutos depois já tinha chegado à conclusão que um artigo sobre a negligência do hospital era muito simplesmente o passo que se impunha dar a seguir. Teria inevitavelmente acabado por pensar ele próprio nisso, com ou sem a sugestão daquele americano ridículo de bochechas redondas e rosadas até mais não.
As sanduíches de hoje eram oferecidas a Jimmy Caughey, Ray Andriutti e Larry Kramer pelo Estado de Nova Iorque, a pretexto do caso Willie Francisco. O juiz Meldnick só precisara de uns escassos quatro dias para perguntar a toda a gente e descobrir qual era a sua própria opinião acerca do pedido de anulação do julgamento de Willie, e anunciara nessa manhã a sua decisão. Anulou o julgamento, baseando-se no acesso de dúvidas do jurado McGuigan. Mas como o dia começara com o julgamento tecnicamente ainda em curso, a secretária de Bernie Fitzgib-bon, Gloria, estava no pleno direito de encomendar as sanduíches.
Ray estava uma vez mais debruçado sobre a secretária a comer uma sanduíche gigante e a beber o seu copo de café amarelado. Kramer comia uma de rosbife que sabia vagamente a produto químico. Jimmy mal tocava na sua. Chorava ainda a desintegração de um caso tão simples. A sua folha de serviço era notável. O Departamento de Homicídios tinha uma espécie de pontuação, como num campeonato de baseball, mostrando quantas confissões ou veredictos de «culpado» tinham sido obtidos por cada um dos procuradores-adjuntos, e Jimmy Caughey não perdera um único processo nos últimos dois anos. A sua raiva convertera-se entretanto num ódio feroz a Willie Francisco e à baixeza do seu crime, embora para Andriutti e Kramer aquele não passasse de mais um caso de merda. Era estranho ver Jimmy naquele estado. Geralmente ele dava mostras da mesma impassibilidade irlandesa que o próprio Fitzgibbon.
— Já não é a primeira vez que isto acontece — dizia. — Leva-se um verme destes a tribunal e ele julga logo que é uma estrela. Estão a ver aquele animal do Willie a desatar aos pulos e a berrar que tinha sido tudo uma ilegalidade?
Kramer fez que sim com a cabeça.
— Agora deu em perito judicial. A verdade é que é um dos sacanas mais estúpidos que alguma vez foram a tribunal no condado do Bronx. Eu disse anteontem ao Bietelberg que se o Meldnick anulasse o julgamento — e tinha de o anular — nós estávamos dispostos a chegar a um acordo. Reduzíamos a acusação de homicídio premeditado para homicídio involuntário, só para evitarmos um segundo julgamento. Mas não. O Willie é muito esperto, não quer aceitar uma coisa dessas. Acha que é uma confissão de derrota. Deve julgar que tem um grande poder sobre os júris, ou qualquer coisa. Mas vai ver que no segundo julgamento se enterra até às orelhas, porra! O mais certo é apanhar doze e meio a vinte em vez de três a seis ou quatro a oito.
Ray Andriutti parou de mastigar a sua sanduíche gigante durante alguns segundos, o tempo suficiente para dizer: — Talvez o gajo seja mesmo esperto, Jimmy. Se aceitar um acordo, vai de certeza para a cadeia. E com estes júris de merda do Bronx, pode sempre acontecer que tenha sorte. Soubeste do que aconteceu ontem?
— O quê?
— O caso do médico de Montauk.
— Não.
— Bom, o médico era um médico da província, de Montauk, que provavelmente nunca tinha posto os pés no Bronx. O tipo tem um doente com uma dessas doenças tropicais esquisitas, e no hospital de lá não sabem o que é que lhe hão-de fazer, mas descobrem que em Westchester há um hospital com uma unidade especial onde só tratam casos desses. Então o médico arranja uma ambulância para o gajo, mete-se na ambulância com ele e vão até Westchester, e o gajo morre na sala de urgências do hospital de Westchester. Portanto a família resolve processar o médico por negligência. Mas onde é que apresentam queixa? Em Montauk? Em Westchester? Nada disso. No Bronx.
— Como é que podem apresentar queixa aqui? — perguntou Kramer.
— A merda da ambulância teve de subir a Major Dee-gan para chegar a Westchester. Portanto o advogado arranjou uma teoria de que a negligência se verificou no Bronx, e por isso foi cá o julgamento. Conseguiram oito milhões de indemnização. O júri pronunciou ontem o veredicto. Ora aí têm um advogado que conhece bem a sua geografia.
— Oh, gaita — disse Jimmy Caughey — aposto contigo que todos os advogados da América que tratam desses casos de negligência sabem do que se passa no Bronx. Em todos os processos cíveis os júris do Bronx funcionam como um mecanismo de redistribuição da riqueza.
Os júris do Bronx... E de repente Kramer já não estava a pensar na massa de rostos escuros em que Ray e Jimmy pensavam... Lembrava-se de uns dentes perfeitos, sorridentes, de uns lábios doces e carnudos, reluzentes de bâton castanho, de uns olhos brilhantes do outro lado da mesa, em pleno coração da Vida... a Vida que só existia em Manhattan... Meu Deus... Tinha ficado completamente liso depois de pagar a conta do Muldownys... mas quando chamara um táxi para ela diante do restaurante e estendera a mão para lhe agradecer e despedir-se, ela deixara ficar a mão na sua, ele apertara-a mais, ela fizera o mesmo, e tinham ficado assim, olhando-se nos olhos, e... Meu Deus!... Fora um momento mais doce, mais sensual, mais cheio de amor, sim, de amor autêntico, desse amor que chega e... enche o coração de uma pessoa... do que todas essas proezas de primeiro encontro de que ele tanto se orgulhava noutros tempos, quando andava à caça, à espreita, como um gato... Não, a verdade é que estava disposto a perdoar muita coisa aos júris do Bronx. Fora um júri do Bronx que trouxera à sua vida a mulher que era seu destino encontrar... Amor, Destino, um Coração transbordante... Que importava que os outros desconhecessem o sentido desses termos?... O Ray, atafulhando a boca com a sua sanduíche gigante, o Jimmy resmungando tristemente acerca de Willie Francisco e Lester McGuigan... Larry Kramer vivia num plano bem mais espiritual...
O telefone de Ray começou a tocar. Ray atendeu e disse:
— Homicídios... Hã-hã... O Bernie não está... O caso Lamb? Kramer... Larry. — Ray olhou para Kramer e fez uma careta. — Ele está aqui. Quer falar com ele?... O.K., só um segundo. — Tapou o bocal e disse: — É um gajo da Assistência Jurídica chamado Cecil Hayden.
Kramer levantou-se do seu lugar, foi até à secretária de Andriutti e pegou no auscultador — Kramer.
— Larry, daqui é Cecil Hayden, da Assistência Jurídica.
— Tinha uma voz alegre, aquele Cecil Hayden. — É você que está encarregado do caso Henry Lamb. Não é?
— Sou eu, sim.
— Larry, acho que chegou a altura de jogarmos ao Jogo do Acordo. — Muito alegre.
— Que tipo de acordo?
— Eu represento um indivíduo chamado Roland Auburn, que foi preso há dois dias sob a acusação de posse e tráfico de drogas. O Weiss mandou um comunicado à imprensa em que lhe chamava o «Rei do Crackde Evergreen Avenue». O meu cliente ficou lisonjeadíssimo. Se já alguma vez foi à Evergreen Avenue, fica sem perceber muito bem o que é que isso tem de lisonjeiro, mas enfim... O «Rei» não pode pagar os dez mil dólares de fiança, por isso continua preso em Rikers Island.
— Bom, está bem, mas o que é que ele tem a ver com o caso Lamb?
— Ele diz que estava com o Henry Lamb quando ele foi atropelado, e que o levou ao hospital. E pode-lhe dar uma descrição do condutor. Por isso quer fazer um acordo.
18 - «Shaman»
Daniel Torres, o gordo procurador-adjunto do Supremo Tribunal, chegou ao gabinete de Kramer com o filho de dez anos a reboque e uma ruga funda no meio da testa. Estava furioso, à sua maneira branda, de gordo, por ter de ir à fortaleza num sábado de manhã. Ainda parecia mais redondo que da última vez que Kramer o vira, na sala de audiências de Kovitsky. Vestia uma camisa desportiva aos quadrados, um casaco que não tinha a menor hipótese de fechar envolvendo a sua grande barriga mole, e um par de calças da Linebacker Shop para «homens fortes», de um feitio que fazia sobressair a barriga abaixo do cinto, como a América do Sul. Um problema de glândulas, pensou Kramer. O filho, em contrapartida, era magro e moreno, de feições delicadas, e parecia do tipo tímido e sensível. Trazia consigo um livro brochado e uma luva de baseball. Depois de uma inspecção rápida e enfadada do gabinete, sentou-se na cadeira de Jimmy Caughey e pôs-se a ler o livro.
Torres disse: — Caramba, os Yankees logo haviam de ir jogar fora hoje — acenou a cabeça na direcção do Yankee Stadium, um pouco mais abaixo, na encosta da colina — no sábado em que eu tenho de aqui vir! É o meu fim de semana com... — Apontou com o queixo para o filho. —E eu prometi que o levava ao jogo, e prometi à minha ex-mulher que ia ao Kiels, no Springfield Boulevard, comprar uns
arbustos e levá-los lá a casa; agora, como é que vou conseguir ir daqui ao Springfield Boulevard, depois a Maspeth e chegar a Shea a horas para o jogo é que não sei. Não me perguntes porque é que eu disse que levava lá a casa o raio dos arbustos. — Abanou a cabeça.
Kramer sentiu-se embaraçado por causa do rapaz, que parecia embrenhado no seu livro. O título era Mulher nas Dunas. O nome do autor, tanto quanto Kramer conseguia ler na capa, parecia ser Kobo Abé. Movido pela curiosidade e pela simpatia, aproximou-se do rapaz e perguntou-lhe, num tom ao mesmo tempo severo e amável: — O que é que estás a ler?
O rapaz ergueu os olhos como uma corça encandeada por um par de projectores. — É uma história — disse. Ou melhor, isso foi o que os seus lábios disseram. Os olhos diziam: «Por favor, deixe-me voltar ao santuário do meu livro.»
Kramer percebeu, mas sentiu-se obrigado a persistir na sua atitude de hospitalidade.
— É sobre o quê?
— Sobre o Japão. — Suplicante.
— O Japão? E o que é que aí diz do Japão?
— É a história de um homem que fica atolado numa das dunas de areia. — Uma voz muito baixinha, suplicante, suplicante!
A ajuizar pela capa abstracta e pela mancha densa, aquele não era um livro para crianças. Kramer, estudioso do coração humano, guardou a impressão de um rapaz inteligente e reservado, produto da metade judaica de Torres, que provavelmente se parecia com a mãe e se sentia já muito longe do pai. Por um instante pensou no seu próprio filhinho. Tentou imaginar-se a ter de o arrastar consigo até ali, a Gibraltar, num sábado qualquer daí a nove ou dez anos. Ficou profundamente deprimido.
— Olha lá, o que é que tu sabes sobre este Mr. Auburn, Danny? — perguntou a Torres. — Que história é esta do «Rei do Crack de Evergreen Avenue»?
— É um caso de... — Torres deixou a frase em suspenso por causa do rapaz. — É uma anedota, é o que é. O Auburn é... você já deve calcular: um desses miúdos da rua, o costume. Já é a terceira vez que o prendem por posse e tráfico de droga. O detective que o prendeu chamou-lhe «Rei do Crack de Evergreen Avenue». Estava só a ser sarcástico, claro. A Evergreen Avenue não tem mais de cinco quarteirões de comprimento. Não faço ideia como é que o Weiss apanhou a
frase. Quando eu vi aquele comunicado, quase... eu nem queria acreditar. Graças a Deus, passou completamente despercebido. — Torres olhou para o relógio. — Quando é que eles cá chegam?
— Já não devem demorar — disse Kramer. — Aos sábados é tudo mais lento em Rikers Island. Como é que o tipo foi apanhado?
— Não foi nada fácil — disse Torres. — A verdade é que foi apanhado duas vezes, porque o gajo tem uns grandes... tem uma boa dose de coragem, ou então é estúpido de todo, não sei. Aqui há um mês um polícia à paisana comprou droga a Auburn e a outro miúdo e anunciou-lhes que estavam presos, e por aí fora, e o Auburn disse-lhe: «Se me queres apanhar, mãezinha, vais ter de me dar um tiro», e desatou a correr. Eu falei com esse polícia, o Ianucci. Disse-me que se o miúdo não fosse negro e não estivesse ali num bairro negro o tinha abatido, ou pelo menos tinha disparado contra ele. Depois, há uma semana, esse mesmo polícia conseguiu prendê-lo.
— O que é que ele se arrisca a apanhar se for condenado por tráfico?
— Dois a quatro, talvez.
— Sabes alguma coisa deste advogado, este Hayden?
— Sei. É um gajo preto.
— Ah, sim? — Kramer ia dizer: «Pela maneira de falar, não me pareceu preto», mas achou melhor ficar calado. — Não se vêem muitos tipos pretos na Assistência Jurídica.
— Não é verdade. Até há bastantes. Muitos deles precisam do emprego. Sabes, estes jovens advogados negros não têm uma vida nada fácil. As faculdades de direito dão-lhes um diploma, mas depois não conseguem encontrar trabalho. Na Baixa, então, é uma coisa patética. Passam a vida a falar no assunto, mas a verdade é que não contratam advogados negros. Por isso eles entram para a Assistência Jurídica ou para o grupo do 18 b. Alguns montam escritórios e lá se vão governando com meia-dúzia de casos-crime. Mas os espertalhões pretos que se arriscam a apanhar penas maiores, os traficantes de droga, não querem advogados negros a representá-los. Os das penas mais leves também não, aliás. Uma vez, estava eu na penitenciária, quando aparece um advogado negro do 18à procura do cliente que lhe atribuíram, e desata a berrar o nome do homem. Tu sabes como eles chamam as pessoas aos berros nas penitenciárias. Bom, mas o caso é que o cliente do gajo também é negro, e chega-se às grades, olha para o advogado e diz-lhe assim, na cara: «Vai-te lixar, meu. Eu quero mas é um judeu». Juro! O tipo disse mesmo: «Vai-te lixar, que eu quero é um judeu»! O Hayden parece-me bastante esperto, mas eu não o conheço muito bem.
Torres tornou a olhar para o relógio, e depois para o canto do chão da sala. Os seus pensamentos evadiram-se daquela sala e de Gibraltar. Pensaria no recado a fazer no Kiels? Nos Mets? No seu ex-casamento? O filho, entretanto, estava no Japão com o homem atolado nas dunas. Só Kramer continuava ali no gabinete. Mantinha-se alerta. Apercebia-se do silêncio da ilha fortificada naquele sábado soalheiro de Junho. Se ao menos aquele indivíduo, aquele Auburn, estivesse a dizer a verdade, se não fosse um desses aldrabões do costume, a tentar pregar uma partida estúpida a toda a gente, a tentar enrolar o mundo inteiro, a berrar para o vazio, atrás das grandes metálicas...
Pouco tempo depois Kramer ouviu passos no corredor, lá fora. Abriu a porta e viu Martin e Goldberg e, entre eles, um jovem negro bem constituído de camisola de gola alta, com as mãos atrás das costas. Na retaguarda vinha um homem negro, baixo e entroncado, de fato cinzento claro. Devia ser Cecil Hayden.
Mesmo com as mãos atrás das costas Roland Auburn conseguia andar à chulo. Não teria mais de cinco pés e sete ou oito polegadas, mas era muito musculoso. Os seus peitorais, os seus deltóides e trapézios desenhavam-se em relevo, com toda a nitidez. Kramer, o atrofiado, sentiu um sobressalto de inveja. Seria pouco dizer que o indivíduo tinha plena consciência da sua magnífica musculatura. A camisola de gola alta moldava-lhe o corpo como uma segunda pele. Trazia um fio de ouro ao pescoço. Usava calças pretas muito justas e ténis Reebok brancos que pareciam acabados de sair da caixa. O seu rosto escuro era quadrado, duro e impassível. Tinha cabelo curto e um bigode fininho a debruar-lhe o lábio superior.
Kramer perguntou a si próprio porque é que Martin lhe teria algemado as mãos atrás das costas. Era mais humilhante do que tê-las algemadas à frente. Fazia um homem sentir-se mais desamparado e vulnerável. Assim sentia-se o perigo de uma queda. Se caísse, seria como uma árvore, sem ter possibilidade de proteger a cabeça. Uma vez que eles queriam a colaboração de Roland Auburn, Kramer pensou que Martin devia ter trazido o homem preso da maneira mais branda — ou acharia ele que havia algum perigo real de aquele rochedo maciço desatar a correr para se escapar? Ou
algemaria Martin toda a gente daquela maneira, sempre da maneira mais dura?
O grupo entrou e encheu o pequeno gabinete. As apresentações foram embaraçosas e confusas. Torres, na sua qualidade de procurador-adjunto encarregado da acusação por tráfico de droga daquele preso, conhecia Cecil Hayden, mas não conhecia Martin nem Goldberg nem o preso. Hayden não conhecia Kramer, e Kramer não conhecia o preso, e além disso ninguém sabia como havia de tratar este último. O seu verdadeiro estatuto era o de delinquente acusado de posse e tráfico de droga, mas naquele momento, tecnicamente, era um cidadão que se apresentara para auxiliar as autoridades na investigação de um crime. Martin resolveu o problema de nomenclatura tratando Roland Auburn, frequentemente e com um ar enfadado, por «Roland».
— Ora bem, Roland, vamos lá a ver. Onde é que te vamos instalar?
Percorreu com os olhos o gabinete apinhado de móveis em mau estado. Tratar um preso pelo nome próprio era uma das maneiras clássicas de eliminar quaisquer pretensões de dignidade e isolamento social a que ele ainda pudesse estar agarrado. Martin instalaria a carcaça de Roland Auburn onde muito bem lhe apetecesse. Ficou parado a pensar, olhou para Kramer e depois lançou um olhar desconfiado ao filho de Torres. Era evidente que lhe parecia que o rapaz não devia ali estar. O rapaz já não lia o seu livro. Estava reclinado na cadeira, de cabeça baixa, a olhar a cena, embasbacado. Parecia mais pequeno. Dele só restava um enorme par de olhos fixos em Roland Auburn.
Para todas as outras pessoas naquela sala, talvez até para o próprio Auburn, aquilo era um episódio de rotina, um réu negro trazido ao gabinete de um procurador-adjunto para negociar, para um pequeno roundde conversações com vista a um acordo. Mas aquele rapazinho triste, sensível, agarrado aos seus livros, nunca esqueceria o que estava a ver, um homem negro com as mãos algemadas atrás das costas no tribunal onde o pai trabalhava, num sábado de sol, antes do jogo dos Mets.
Kramer disse a Torres: — Dan, tenho a impressão que vamos precisar daquela cadeira. — Olhou para o filho de Torres. — Talvez ele não se importe de ficar aqui ao lado, no gabinete do Bernie Fitzgibbon. Não está lá ninguém.
— Pois é, Ollie — disse Torres — porque é que não vais para ali esperar que a gente acabe? — Kramer perguntou a si próprio se Torres teria mesmo posto ao filho o nome de Oliver. Oliver Torres.
Sem uma palavra, o rapaz levantou-se, agarrou no livro e na luva de baseballe encaminhou-se para a outra porta, que dava para o gabinete de Bernie Fitzgibbon, mas não resistiu a lançar uma última olhadela ao negro algemado. Roland Auburn fitou-o com um olhar completamente inexpressivo. Em idade, estava mais próximo do rapaz do que de Kramer. Apesar de todos os seus músculos, pouco mais era, afinal, que um rapaz.
— O.K., Roland — disse Martin — vou-te tirar isto, e tu vais-te sentar ali e portar-te bem, certo?
Roland Auburn não disse nada, limitou-se a voltar costas a Martin, estendendo-lhe as mãos presas, de forma a que ele pudesse abrir as algemas.
— Eiii!i!, não se aflija, Marty — disse Cecil Hayden. — O meu cliente está aqui porque quer sair pela porta da frente, sem precisar de espreitar por cima do ombro a ver se o vão apanhar ou não.
Kramer não queria acreditar. Hayden já tratava pelo diminutivo o Doberman irlandês, e acabava de o conhecer. Hayden era um desses indivíduos muito vivos, cheios de uma jovialidade tão calorosa e confiante que uma pessoa tinha de estar de muito mau humor para conseguir ficar ofendida com ele. Conseguira realizar a difícil proeza de mostrar ao cliente que estava ali para defender os seus direitos e dignidade sem irritar o contingente dos Polícias Irlandeses.
Roland Auburn sentou-se e começou a friccionar os pulsos, mas parou logo. Não queria dar a Martin e Goldberg a satisfação de saberem que as algemas o tinham magoado. Goldberg contornara a cadeira e sentara-se atrás de Roland, na beira da secretária de Ray Andriutti. Tinha nas mãos um bloco e uma esferográfica, para tomar notas da entrevista. Martin passou para o outro lado da secretária de Jimmy Caughey e sentou-se também à beirinha. O preso estava agora entre os dois homens e teria de se voltar para ver de frente qualquer um deles. Torres sentou-se na cadeira de Ray Andriutti, Hayden na de Kramer e Kramer, que era quem ia dirigir o espectáculo, ficou de pé. Roland Auburn estava agora reclinado na cadeira de Jimmy Caughey com as pernas abertas e os antebraços apoiados nos braços da cadeira, a fazer estalar as articulações dos dedos e a olhar fixamente para Kramer. O seu rosto era uma máscara. Nem sequer pestanejava. Kramer lembrou-se da expressão que aparecia constantemente nos relatórios sobre os jovens negros em liberdade condicional: «ausência de afecto». Aparentemente, isso queria dizer que lhes faltavam os sentimentos normais de toda a gente. Não tinham sentimentos de culpa, vergonha, remorso, medo ou compaixão pelos outros. Mas sempre que cabia em sorte a Kramer falar com esses indivíduos, ele ficava com a sensação que se tratava de outra coisa. Eles desciam uma cortina. Isolavam-no daquilo que se passava atrás da superfície imperturbável dos seus olhos. Não deixavam transparecer o menor indício do que pensavam acerca dele, do Poder e das suas próprias vidas. Já antes se perguntara e perguntava-se agora: Quem são estas pessoas? (Estas pessoas, cujos destinos eu decido todos os dias...)
Kramer olhou para Hayden e disse: — Senhor Doutor... — Doutor. Não sabia como havia de tratar o homem. Hayden tratara-o por «Larry» ao telefone, logo desde o início da conversa, mas ali no gabinete ainda não lhe dirigira a palavra, e Kramer não queria tratá-lo por «Cecil», receando dar a Roland uma impressão de excessiva cumplicidade ou então de falta de respeito pelo seu advogado. — Senhor Doutor, explicou ao seu cliente o que vamos aqui fazer, não é verdade?
— Expliquei, claro — disse Hayden. — Ele sabe do que se trata.
Então Kramer olhou para Ronald. — Mr. Auburn... — Mr. Auburn. Kramer calculou que Martin e Goldberg lhe perdoariam. O procedimento habitual, quando um procura-dor-adjunto interrogava um réu, consistia em começar pelo respeitoso Mister, apenas para a conversa arrancar da melhor maneira, e em mudar para o nome próprio quando as coisas já corriam sobre rodas. — Mr. Auburn, suponho que já conhece aqui o Mr. Torres. É ele o procurador-adjunto encarregado da acusação por que o senhor foi preso e vai responder em tribunal, a acusação de tráfico de droga. O.K.? E eu estou encarregado do caso Henry Lamb. Ora bem, para já não lhe podemos prometer nada, mas se nos der uma ajuda, nós ajudamo-lo a si. É tão simples quanto isto. Mas tem de dizer a verdade. Tem de dizer só a verdade, senão é o mesmo que vir para aqui brincar connosco, e pode crer que não fica a ganhar com isso. Está a perceber?
Roland olhou para o seu advogado, Cecil Hayden, e Hayden limitou-se a acenar com a cabeça, como se dissesse: «Não te preocupes, está tudo bem.»
Roland virou-se para o outro lado, olhou para Kramer e disse, com a mesma cara de pau: — Hã, hã.
— O.K. — disse Kramer. — A mim o que me interessa é o que aconteceu a Henry Lamb na noite em que foi atropelado. Quero que me conte tudo o que sabe.
Ainda reclinado na cadeira de Jimmy Caughey, Roland disse: — Onde é que quer que eu comece?
— Ora... comece pelo princípio. Porque é que estava com Henry Lamb nessa noite?
Roland disse: — Eu estava muito bem no meio da rua, a preparar-me para ir à Rua 161, ao pronto-a-comer Texas Fried Chicken, quando vi passar o Henry. — Aqui, Roland calou-se.
Kramer disse: — Está bem, e depois?
— Eu digo-lhe: «Henry, onde é que vais?» E ele diz-me: «Vou ao pronto-a-comer», e eu digo-lhe «Também eu», e começámos a andar para lá.
— Em que rua foi isso?
— No Bruckner Boulevard. .
— O Henry é seu amigo?
Pela primeira vez Roland deu mostras de uma emoção. Pareceu vagamente divertido. Um sorrisinho franziu-lhe um dos cantos da boca, e baixou os olhos, como se a pergunta tivesse alguma coisa de embaraçoso. — Não, somos só conhecidos. Vivemos no mesmo bairro.
— Costumam andar juntos por aí?
Um ar ainda mais divertido. — Não, o Henry não costuma «andar por aí». Ele não sai muito de casa.
— Bom — disse Kramer — mas então vocês os dois iam a descer o Bruckner Boulevard a caminho do Texas Fried Chicken. O que é que aconteceu depois?
— Bom, chegámos ao cruzamento com a Hunts Point Avenue, e preparámo-nos para atravessar a rua, para irmos até ao Texas Fried Chicken.
— Atravessar qual rua, a Hunts Point Avenue ou o Bruckner Boulevard?
— O Bruckner Boulevard.
— Só para ficarmos com as ideias mais claras, vocês estavam de que lado do Bruckner Boulevard? Do lado leste, a atravessar para o lado oeste?
— É isso mesmo. íamos atravessar do lado leste para o lado oeste. Eu já estava fora do passeio, à espera que os carros passassem, e o Henry estava assim aqui, deste lado. — Apontou para a sua direita. — Portanto eu via os carros melhor do que ele, porque vinham do outro lado. — Apontou para a esquerda. — Os carros vinham quase todos na faixa central, em bicha, e de repente aparece um carro que sai da fila e quer ultrapassar os outros todos pela direita, e eu vejo que vai passar muito perto do sítio onde eu estou. Por isso dou um salto para trás. Mas o Henry, parece-me que não deve ter visto nada até me ver dar o salto, e quando o carro passou ouvi uma pancada e vi o Henry cair, assim. — Fez um movimento circular com o indicador.
— Está bem, e o que é que aconteceu depois?
— Ouvi chiar os pneus do carro. Estava a travar. A primeira coisa que eu fiz foi ir até junto do Henry, que estava ali caído na rua, ao pé do passeio, meio encolhido, assim, agarrado a um braço, e eu disse-lhe: «Henry, magoaste-te?» E ele disse: «Acho que parti o braço.»
— Disse-lhe que tinha batido com a cabeça?
— Isso só me disse mais tarde. Quando eu me pus ali de cócoras à beira dele, só dizia que lhe doía o braço. Depois, quando o levei ao hospital, ele disse-me que quando ia a cair tinha esticado os braços, tinha caído em cima de um dos braços e continuado a rolar ainda um bocado, e nessa altura é que bateu com a cabeça.
— Está bem, vamos voltar aos minutos logo a seguir ao acidente. Você está na rua ao lado de Henry Lamb, e esse carro que o atropelou trava. O carro chegou a parar ou não?
— Parou. Vi-o parar mais adiante.
— A que distância?
— Não sei. Talvez uns cem pés. Abre-se a porta e sai um tipo, um tipo branco. O gajo fica um bocado a olhar para trás, para mim e para o Henry.
— O que é que você fez?
— Bom, pensei que o gajo tinha parado porque tinha atropelado o Henry e ia ver se nos podia ajudar. Pensei: ainda bem, o gajo pode levar o Henry ao hospital. Então levantei-me, comecei a andar para ao pé dele e disse: «Ouça lá! Nós precisamos de ajuda!»
— E o que é que ele fez?
— O homem ficou a olhar para mim, e depois abriu-se a porta do outro lado do carro, e apareceu uma mulher. Debruçou-se assim, um bocado, para fora do carro, e olhou também para trás. Ficaram os dois a olhar para mim, e eu disse: «Eh, vocês aí! O meu amigo está ferido!»
— A que distância estava deles nessa altura?
— Não muito longe. Quinze ou vinte pés.
— E via-os bem?
— Via, claro, estavam ali mesmo à minha frente.
— O que é que eles fizeram?
— A mulher estava com uma cara esquisita. Parecia cheia de medo. Disse para o gajo: «Shaman, cuidado!»
— «Shaman, cuidado»? Ela disse «Shaman»! — Kramer lançou uma olhadela a Martin. Martin arregalou os olhos e formou uma bolsa de ar debaixo do lábio superior. Goldberg estava de cabeça baixa, a tomar notas.
— Foi o que eu ouvi.
— Shaman ou Sherman?
— Pareceu-me mais Shaman.
— Está bem, e o que é que aconteceu então?
— A mulher tornou a enfiar-se dentro do carro. O homem continuou a olhar para mim, atrás do carro. Então a mulher disse: «Shaman, entra depressa!» Só que nessa altura já estava no lugar do condutor. E então o homem corre para o outro lado, onde ela estava antes, salta para dentro do carro e bate com a porta.
— Portanto, eles trocaram de lugares. E o que é que você fez? A que distância estava nessa altura?
— Quase tão perto como agora estou de si.
— Estava furioso? Gritou com eles?
— A única coisa que eu disse foi: «O meu amigo está ferido.»
— Ameaçou-os com o punho? Fez algum gesto de ameaça?
— Eu só queria era que eles ajudassem o Henry. Não estava furioso. Estava com medo, pelo Henry.
— Está bem, e o que é que aconteceu a seguir?
— Eu corri para a dianteira do carro.
— De que lado?
— De que lado? Do lado direito, onde estava o gajo. Via-os aos dois, pelo pára-brisas. Disse-lhes: «Ouçam lá! O meu amigo está ferido!» Estou eu à frente do carro, a olhar para trás, para o fundo da rua, quando vejo o Henry. Estava mesmo atrás do carro. Vinha a andar, meio zonzo, percebe, a segurar o braço assim. — Roland pegou no antebraço esquerdo com a mão direita, deixando pender a mão, como se estivesse ferida. — Quer dizer, o gajo via perfeitamente o Henry ali ao pé do carro, a segurar o braço assim. Não podia não ter reparado que o Henry estava ferido. Estava eu a olhar para o Henry e, quando menos espero, a mulher põe o carro a andar e pira-se dali para fora a grande velocidade. Arranca tão depressa que a cabeça do homem bate nas costas do banco. O homem estava a olhar para mim, e de repente a cabeça vai-lhe bater no banco e o carro sai dali como um foguete. Não me atropelaram a mim por uma unha negra. — Uniu as pontas do indicador e do polegar. — Parecia que me queriam fazer o mesmo que tinham feito ao Henry, ou pior.
— Conseguiu ver a matrícula?
— Não. Mas o Henry viu. Acho que viu pelo menos uma parte.
— E disse-lhe o que tinha visto?
— Não. Mas parece que disse à mãe. Foi o que ouvi na televisão.
— Como é que era o carro?
— Era um Mercedes.
— De que cor?.
— Preto.
— E o modelo?
— Não sei que modelo era.,
— Quantas portas?
— Duas. Era daqueles carros baixos, sabe? Um carro desportivo.
Kramer tornou a olhar para Martin. Este estava outra vez com a mesma cara, os mesmos olhos arregalados que pareciam dizer: «Acertámos em cheio.»
— Era capaz de reconhecer o homem se o visse outra vez?
— Reconhecia de certeza. — Roland disse aquilo com uma convicção amarga que era a marca da verdade.
— E a mulher?
— Também a reconhecia. Entre mim e eles só havia um bocado de vidro.
— Como é que era a mulher? Que idade tinha?
— Não sei. Era branca. Não sei que idade tinha.
— Bom, mas era nova ou velha? Estava mais perto dos vinte e cinco, dos trinta e cinco, dos quarenta e cinco ou dos cinquenta e cinco?
— Dos vinte e cinco, acho eu.
— Cabelo claro, escuro, ruivo?
— Escuro.
— O que é que trazia vestido?
— Um vestido, acho eu. Estava toda de azul. Lembro-me porque era um azul muito vivo, e os ombros do vestido eram enormes. Lembro-me bem disso.
— E o homem, como é que era?
— Era alto. Estava de fato e gravata.
— Um fato de que cor?
— Não sei. Um fato escuro. Só me lembro que eraescuro.
— Que idade tinha? Pareceu-lhe assim mais ou menos daminha idade, ou mais velho? Ou mais novo?
— Um bocadinho mais velho.
— E reconhecia-o se o tornasse a ver.
— Reconhecia.:
— Bom, Roland, eu vou-lhe mostrar umas fotografias, e quero que me diga se reconhece alguém nessas fotografias. O.K.?
— Hã, hã.
Kramer foi à sua secretária, onde Hayden estava instalado, disse: «Desculpe-me só um segundo» e abriu uma gaveta. Ao fazê-lo olhou para Hayden de fugida e acenou ligeiramente com a cabeça, como se dissesse: «Está a dar resultado». Da gaveta tirou o conjunto de fotografias que Milt Lubell reunira para Weiss. Espalhou as fotografias na secretária de Jimmy Caughey, à frente de Roland Auburn.
— Reconhece alguma destas pessoas?
Roland examinou as fotografias, e o seu indicador apontou quase imediatamente a figura de Sherman McCoy, todo sorridente e de smoking.
— É ele.
— Como é que sabe que é o mesmo tipo?
— É ele. Reconheço-o. É o mesmo queixo. O homem tinha um queixo assim, grande e espetado.
Kramer olhou para Martin e depois para Goldberg. Goldberg sorria quase imperceptivelmente.
— Está a ver a mulher da fotografia, a mulher que está ao lado dele? Era ela que ia no carro?
— Não. A mulher do carro era mais nova, tinha o cabelo mais escuro, e era mais... mais coisa.
— Coisa?
Roland esboçou uma vez mais um sorriso, mas reprimiu-o. — Sabe, mais... mais do género boazona.
Kramer permitiu-se soltar umagargalhadinha. Era uma oportunidade de dar vasão a uma parte da euforia que começava já a sentir. — Uma boazona, hã? O.K.!, uma boazona. Muito bem. Portanto, eles abandonaram o local do acidente. O que é que você fez então?
— Não podia fazer grande coisa. O Henry estava para ali agarrado ao braço. Tinha o pulso todo desengonçado. Então eu disse-lhe: «Henry, tu tens que ir ao hospital», e ele disse que não queria ir a hospital nenhum, queria mas era ir para casa. Por isso começámos a subir outra vez o Bruckner Boulevard, em direcção ao nosso bairro.
— Espere lá — disse Kramer. — Alguém mais viu o que aconteceu? Havia alguém no passeio?
— Não sei.
— Não parou mais nenhum carro?
— Não. Acho que se o Henry ficasse ali deitado muito tempo, talvez alguém parasse. Mas ninguém parou.
— Bom, então vocês puseram-se a subir outra vez o Bruckner Boulevard em direcção ao bairro.
— Pois foi. Só que o Henry gemia e estava com cara de quem ia cair para o lado, e eu disse-lhe: «Henry, tens mas é de ir ao hospital». Por isso levei-o até à Hunts Point Avenue, e quando íamos atravessar a Rua 161 para apanharmos o metro eu vi um táxi de um amigo meu, chamado Brill.
— Brill?
— É um tipo que tem dois táxis.
— E foi ele que vos levou ao Hospital Lincoln?
— Quem ia a guiar o táxi era um tipo chamado Curly Kale. É um dos motoristas do Brill.
— Curly Kale. Isso é mesmo o nome dele, ou é alguma alcunha?
Kale.
Não sei. É assim que toda a gente lhe chama, Curly
— E foi ele que vos levou ao hospital.
— Foi.
— Que tal lhe pareceu o estado do Henry a caminho do hospital? Foi nessa altura que ele lhe disse que tinha batido com a cabeça?
— Foi, mas quase só falava era do braço. O pulso dele estava com muito mau aspecto.
— E ele falava de uma maneira coerente? Estava no seu juízo perfeito, tanto quanto você pôde perceber?
— Como lhe disse, ele gemia muito e dizia que lhe doía o braço. Mas sabia onde estava. Sabia o que estava a acontecer.
— Quando chegaram ao hospital, o que é que você fez?
— Bom, saímos os dois, eu levei o Henry até à porta das urgências e ele entrou.
— Você não foi com ele?
— Não, tornei a entrar no táxi do Curly Kale e fomo-nos embora.
— Não ficou com o Henry?
— Achei que já não podia fazer mais nada por ele. — Roland olhou de soslaio para Hayden.
— Como é que o Henry foi do hospital para casa?
— Não sei.
Kramer calou-se por instantes. — Muito bem, Roland, eu só quero saber mais uma coisa. Porque é que não veio mais cedo dar-nos essas informações? Quer dizer, você está com um amigo seu, ou se não é amigo pelo menos é seu vizinho, vive no mesmo bairro, e ele é vítima de um acidente mesmo à frente do seu nariz, o caso aparece nos jornais todos, na televisão, e nós não ouvimos uma única palavra sua até agora. O que é que me diz a isto?
Roland olhou para Hayden, que se limitou a fazer sinal que sim com a cabeça, e Roland disse: — Os polícias andavam à minha procura.
Hayden então interveio. — Havia contra ele um mandato por venda e posse de droga, por resistir à voz de prisão e por mais duas ou três coisas, precisamente os motivos por que ele agora está preso.
Kramer disse a Roland: — Portanto, você estava a proteger-se. Reteve esta informação para não ser obrigado a falar com a Polícia.
— Pois foi.
Kramer estava tonto de alegria. Já via o caso tomar forma. Aquele Roland não seria propriamente um amor de criança, mas era perfeitamente credível. Tirar-lhe aquela camisola de malha de bodybuilder e os ténis! Partir-lhe uma perna para ele não o poder andar à chulo! Enterrar aquela história do Rei do Crack de Evergreen Avenue! Não causava nada boa impressão nos júris um criminoso importante, falado nos jornais, aparecer no tribunal a oferecer o seu testemunho em troca de uma redução de pena. Mas bastava essa pequena limpeza, um ou dois arranjos... e era daquilo que o caso precisava! Kramer começou logo a imaginar a cena... o desenho...
Disse a Roland: — E você disse-me toda a verdade? „ — Hã, hã.
— Sem acrescentar nada, nem omitir nada?
— Hã, hã.
Kramer foi até à secretária de Jimmy Caughey, mesmo ao lado de Roland, e recolheu as fotografias. Depois voltou-se para Cecil Hayden.
— Senhor Doutor — disse — vou ter de discutir o assunto com os meus superiores. Mas ou me engano muito ou temos acordo.
Viu a cena antes ainda de aquelas palavras lhe saírem da boca... o desenho... o desenho do artista do tribunal... Via-o como se já tivesse diante dos olhos o écran de televisão... O procurador-adjunto Lawrence N. Kramer... de pé... de dedo
espetado... com os esternocleidomastoideus, maciços em evidência... Mas como é que o artista iria tratar o seu crânio onde faltava já tanto cabelo? Bom, se o desenho fizesse justiça à sua bela constituição física, esse pormenor passaria despercebido. A coragem e a eloquência... essas, toda a gente as veria. Toda a cidade de Nova Iorque as veria E Miss Shelly Thomas!
19 - Lealdade Irlandesa
Na segunda-feira logo de manhã Kramer e Bernie Fitz-gibbon foram chamados ao gabinete de Abe Weiss. Milt Lubell também lá estava. Kramer via bem que o seu estatuto tinha melhorado durante o fim de semana. Weiss tratava-o agora por Larry e não por Kramer e não dirigia a Bernie todos os comentários sobre o caso Lamb, como se ele, Kramer, não passasse de um homem de mão de Bernie.
Mas Weiss olhava para Bernie quando disse: — Eu não quero andar para trás e para diante com esta coisa, a menos que seja absolutamente indispensável. O que temos chega para prender este McCoy ou não?
— Chega, Abe — disse Fitzgibbon — mas não me satisfaz completamente. Temos esse tal Auburn que identifica o McCoy como o tipo que ia a guiar o carro que atropelou o Lamb, temos o empregado da garagem que diz que o McCoy saiu com o carro no dia em que aconteceu o acidente, e o Martin e o Goldberg encontraram o taxista «cigano», Brill, que confirma que Auburn usou um dos seus carros nessa noite. Mas não encontraram o motorista, esse tal Curly Kale — revirou os olhos e inspirou ruidosamente pela boca, como se dissesse: «Estes tipos e os nomes deles!» — e eu acho que devíamos falar primeiro com ele.
— Porquê?
— Porque há certas coisas que não fazem sentido, e o Auburn é um traficante de droga da pior espécie que só resolveu falar para se safar. Ainda gostava de saber porque é que o Lamb não disse que tinha sido atropelado quando foi pela primeira vez ao hospital. Gostava de saber o que se passou nesse táxi, e gostava de saber se o Auburn levou mesmo o miúdo ao hospital. E também gostava de saber mais alguma coisa acerca de Auburn. Sabe, não me parece muito o género de tipo que vai muito sossegadinho com o Henry Lamb ao Texas Fried Chicken. Pelo que sei, o Lamb é um rapaz bem comportado, e o Auburn é um delinquente.
Kramer sentiuuma estranha paixão tomar forma no seu peito. Queria defender a honra de Roland Auburn. Sim! Defendê-lo!
Weiss fez um gesto com a mão, como que varrendo estas objecções. — Isso são pormenores, Bernie. Não percebo porque é que não podemos prender o McCoy, acusá-lo e depois tratar de acertar esses pormenores. Toda a gente julga que esta história de «investigações em curso» é só para empatar.
— Mais um ou dois dias não hão-de fazer grande diferença, Abe. O McCoy não vai desaparecer, e o Auburn ainda menos.
Kramer viu aqui uma aberta e, encorajado pelo seu novo estatuto, resolveu intervir: — Olha que isso pode trazer-nos problemas, Bernie. É verdade que o Auburn não... não vai desaparecer — quase dissera isn’t mas emendou rapidamente para aint, a forma incorrecta que todos usavam —, mas acho que devíamos servir-nos dele o mais depressa possível. Ele deve estar convencido que vai pagar a fiança e sair de um momento para o outro. Devíamos despachar-nos a pô-lo à frente de um júri, se é que queremos tirar alguma coisa dele.
— Não te preocupes com isso — disse Fitzgibbon. — Ele não será propriamente brilhante, mas sabe que a escolha é entre três anos de cadeia e sair já em liberdade.
— Foi esse o acordo que nós fizemos? — perguntou Weiss. — O Auburn não apanha nada?
— É assim que a coisa vai acabar. Temos de retirar a acusação e reduzi-la de crime para delito.
— Merda — disse Weiss. — Era melhor termos andado mais devagarinho com esse filho da mãe. Não gosto nada de retirar acusações graves como esta.
— Abe — disse Fitzgibbon, sorrindo — foi você que o disse, e não eu! Só estou a pedir-lhe isso mesmo, que ande um bocadinho mais devagar. Sentia-me muito melhor se tivesse alguma coisa que me confirmasse o que ele diz.
Kramer não se conseguiu conter. — Olha que não sei... O que ele diz é bastante consistente. Falou-me de coisas que só podia saber tendo lá estado. Sabia a cor do carro, o número de portas... sabia que era um modelo desportivo. Sabia o primeiro nome do McCoy. Ouviu-o como Shaman e não Sherman, mas vem quase a dar ao mesmo. E não há nenhuma maneira de ele poder ter sonhado estas coisas.
— Eu não estou a dizer que ele não esteve lá, Larry, nem estou a dizer para não usarmos o que ele disse. Vamos usá-lo sim. Estou só a dizer que o tipo é um traste e que temos de ser prudentes.
Traste? É da minha testemunha que estás a falar! — Não sei, Bernie — disse. — Por aquilo que até agora consegui saber, o miúdo não é tão mau como isso. Estive a ver um relatório de quando ele esteve em liberdade condicional. O rapaz não será um génio, mas também nunca teve ninguém que o fizesse usar a cabeça. É de uma família que já vive há três gerações à conta da assistência social, a mãe tinha quinze anos quando ele nasceu e já teve mais dois filhos de pais diferentes; e agora vive com um dos amigos de Roland, um miúdo de vinte anos, só um ano mais velho do que o Roland. Esse puto vive lá, no mesmo apartamento que o Roland e um dos irmãos. Santo Deus, imagina-me só a situação! Eu acho que no lugar dele tinha um cadastro muito pior. Duvido que ele alguma vez tenha tido um familiar que não vivesse num bairro social.
Bernie Fitzgibbon, agora, sorria-lhe. Kramer ficou desconcertado mas continuou.
— E outra coisa que eu descobri foi que o rapaz tem talento. O guarda encarregado de o vigiar durante a liberdade condicional mostrou-me umas coisas que ele fez, e que me pareceram muito interessantes. São umas... como é que se chamam...
— Colagens? — disse Fitzgibbon.
— Sim, é isso! — disse Kramer. — Colagens, com umas coisas prateadas...
— Pratas de chocolates amarrotadas a fazer de céu?
— Isso mesmo! Então também os viste! Onde é que as viste?
— Não vi as colagens do Auburn, mas já vi muitas assim. É a arte das cadeias.
— O que é que queres dizer com isso?
— É o que mais se vê. Eles fazem imensas coisas dessas na cadeia. São sempre umas figuras que parecem de desenhos animados, não é? E depois o fundo é preenchido com pratas de cigarros ou chocolates?
— É isso, sim...
— Passo a vida a ver dessas porcarias. Todos os anos me aparecem aqui pelo menos dois ou três advogados com colagens assim, a dizer-me que eu tenho um Miguel Angelo atrás das grades.
— Bom, é possível — disse Kramer. — Mas a mim parece-me que este miúdo tem mesmo talento.
Fitzgibbon não disse nada. Limitou-se a sorrir. E agora Kramer percebia o que queria dizer aquele sorriso. Bernie achava que ele estava a tentar valorizar a sua testemunha. Kramer sabia muito bem o que isso era — mas no seu caso era diferente! A valorização das testemunhas era um fenómeno psicológico corrente entre os procuradores. Num processo-crime, havia todas as probabilidades de a testemunha principal ser do mesmo meio que o réu e ter ela própria cadastro. Era muito pouco provável que essa testemunha fosse tida por um pilar de probidade — mas não havia outra. E, sendo assim, uma pessoa sentia a necessidade de a valorizar um pouco, de a pintar com as cores da verdade e da credibilidade. Mas não era apenas uma questão de melhorar a reputação do indivíduo aos olhos do juiz e do júri. Uma pessoa sentia a necessidade de o ilibar para sua própria satisfação. Era preciso acreditar que o que se estava a fazer com aquele indivíduo — ou seja, usá-lo para mandar outra pessoa para a cadeia — era não só eficaz mas também justo. Aquele verme, aquele micróbio, aquele vadio, aquele perfeito animal era agora um camarada, uma espécie de ponta de lança na luta do bem contra o mal, e a pessoa precisava, não pelos outros mas por si, de acreditar que alguma luz irradiava daquele... organismo, que ainda na véspera era um verme desprezível mas passava agora a ser um jovem infeliz e incompreendido.
Ele sabia muito bem disso tudo — mas Roland Auburn era diferente!
— Está bem — disse Abe Weiss, pondo fim ao debate estético com mais um aceno da mão. — Não interessa. Tenho que tomar uma decisão, e já a tomei. O que temos chega-nos. Vamos prender o McCoy. Prendemo-lo amanhã de manhã, e anunciamos a coisa à imprensa. Terça-feira é bom dia?
Olhou para Milt Lubell ao fazer a pergunta. Lubell acenou afirmativamente com a cabeça. — Terça e quarta são os dias melhores. Terça e quarta. — Voltou-se para Bernie Fitzgibbon. — As segundas-feiras são péssimas. As pessoas
não fazem outra coisa o dia todo senão ler as notícias do desporto, e à noite, na televisão só vêem os jogos.
Mas Fitzgibbon tinha os olhos fixos em Weiss. Por fim encolheu os ombros e disse: — O.K., Abe. Não me vou matar por causa disso. Mas se vamos fazer a coisa amanhã, o melhor é eu telefonar já aoTommy Killiam, antes que ele vá para o tribunal, para termos a certeza que ele vai ter o McCoy a postos.
Weiss apontou para a mesinha do telefone no outro extremo da sala, para lá da mesa de reuniões, e Fitzgibbon encaminhou-se para lá. Enquanto Fitzgibbon estava ao telefone, Weiss disse: — Onde é que estão essas fotografias, Milt?
Milt Lubell procurou no meio de uma pilha de papéis que tinha sobre os joelhos um conjunto de folhas de revista, estendendo-as a Weiss.
— Como é que se chama esta revista, Milt?
— Architectural Digest
— Olhe para isto. — Quando Kramer deu por si, estava Weiss debruçado sobre a secretária, estendendo-lhe as fotografias. Sentiu-se incrivelmente lisonjeado. Examinou as páginas... o papel mais macio que se possa imaginar... fotografias luxuosas, a cores, tão nítidas que até faziam doer os olhos... o apartamento dos McCoys... Um mar de mármore conduzia a uma grande escadaria curva com uma balaustrada de madeira escura... Madeiras escuras por toda a parte, e uma mesa trabalhada com uma braçada enorme de flores enfiadas num grande vaso... Era o átrio de que Martin tinha falado. Parecia suficientemente grande para albergar três colónias de formigas de 888 dólares por mês, como a de Kramer, e era apenas um átrio. Já tinha ouvido dizer que havia gente que vivia assim em Nova Iorque... Outra sala... mais madeiras escuras... Devia ser a sala de estar... Tão grande, que havia nela três ou quatro conjuntos distintos de móveis maciços... o género de sala onde ao entrar se baixa instintivamente a voz... Outra fotografia... um pormenor de um friso de madeira esculpida, uma madeira lustrosa, de um castanho avermelhado, onde se destacavam inúmeras figuras de fato e chapéu a andar para um lado e para o outro, em todas as direcções, diante de uma série de edifícios... E agora Weiss debruçava-se de novo sobre a secretária e apontava para a fotografia.
— Olhe-me bem para isso — disse. — Chama-se «Wall Street», e é obra de um tal Wing Wong ou coisa parecida,
«mestre marceneiro de Hong Kong». É o que aí diz, não é? Têm essa coisa na parede da «biblioteca». Acho porreiro...
Agora Kramer percebia melhor o que Martin dissera. «A biblioteca»... os WASPs... Trinta e oito anos... só mais seis do que ele... Os pais deixavam-lhes aquele dinheiro todo, e eles viviam no país das fadas. Bom, mas aquele, pelo menos, tinha agora que se preparar para uma colisão com o mundo real.
Fitzgibbon voltou do outro extremo da sala.
— Falou com o Tommy? — perguntou Weiss. — Falei. Ele vai ter o homem a postos.
— Olhe-me só para isto — disse Weiss, apontando para as folhas da revista. Kramer passou-as a Fitzgibbon. — O apartamento dos McCoys — disse Weiss.
Fitzgibbon lançou uma olhadela rápida às fotografias e devolveu-as a Kramer.
— Já viu coisa assim? — perguntou Weiss. — A decoradora foi a mulher dele. Não é verdade, Milt?
— Foi. Ela é uma dessas decoradoras da alta sociedade — disse Lubell —, uma dessas mulheres ricas que decoram casas de outras mulheres ricas. Fartam-se de vir artigos sobre elas na revista New York.
Weiss continuou a olhar para Fitzgibbon, mas Fitzgibbon não disse nada. Então Weiss arregalou os olhos, como se tivesse tido uma revelação. — Está a imaginar a cena, Bernie?
— Imaginar qual cena?
— Bom, é assim que eu vejo as coisas — disse Weiss. Parece-me que para acabar com estas conversas da justiça branca e de Joanesbronx e sei lá mais o quê, o melhor era prendermos o gajo em casa dele. Acho que ia ser uma coisa do caraças. Se queremos dizer a esta cidade que a lei é igual para todos, é só prendermos um tipo da Park Avenue da mesma maneira que prendemos o José Garcia ou o Tyrone Smith. Nos apartamentos desses entramos nós, não é?
— Pois entramos — disse Fitzgibbon — porque eles de outra maneira não vêm.
— Não é isso que me importa. Temos obrigações para com as pessoas desta zona. Andam a pintar-lhes os nossos serviços com as cores mais negras, e uma coisa assim punha termo a isso tudo.
— Não acha um bocado de exagero ir buscar um tipo a casa só para fazer uma demonstração dessas?
— Não há nenhuma maneira maravilhosa de se ser preso, Bernie.
— Bom, mas nós não podemos fazer isso — disseFitzgibbon.
— Porquê?
— Porque eu ainda agora disse ao Tommy que não ia ser assim. Eu disse-lhe que o McCoy se podia vir aqui entregar.
— Tenho muita pena, mas você não devia ter feito uma coisa dessas, Bernie. Não podemos garantir a nenhum advogado que o cliente dele vai ter um tratamento especial. Você sabe isso perfeitamente.
— Não sei, não senhor, Abe. Eu dei-lhe a minha palavra.
Kramer olhou para Weiss. Kramer sabia que o Burro tinha marcado a sua posição, e não havia nada que o pudesse abalar. Mas teria Weiss marcado a sua? Aparentemente, não tinha.
— Ouça, Bernie, diga ao Tommy que eu não respeitei o combinado, está bem? Pode passar as culpas todas para mim. Não me importo de ser o mau da fita. Depois arranjamos maneira de compensar Tommy.
— Negativo — disse Fitzgibbon. — Você não vai ter de passar pelo mau da fita, Abe, porque isso não vai acontecer. Eu dei a minha palavra ao Tommy. É um contrato.
— Pois, mas às vezes uma pessoa tem de...
— Gaita, Abe! É um contrato.
Kramer não desfitava os olhos de Weiss. A repetição da palavra contrato tinha-o abalado, bem o via. Weiss tinha chegado a um impasse. Agora sabia que tinha contra si aquele obstinado código irlandês de lealdade. Em silêncio, Kramer implorou a Weiss que ignorasse o subordinado. A lealdade dos Burros! Era obsceno! Porque é que ele, Kramer, havia de ter que ser prejudicado pela solidariedade fraterna dos irlandeses? Prender aquele ricaço da Wall Street no seu apartamento, com muita publicidade à volta — era uma ideia brilhante! Demonstrar a imparcialidade da justiça no Bronx — de uma maneira irrefutável! Procurador-Adjunto Lawrence Kramer — em breve o Times, o New, o Post, o City Light, o Canal 1 e os outros todos saberiam de cor o seu nome! Porque é que Weiss havia de ter que se sujeitar ao código daqueles tipos? E, no entanto, sabia que ele se sujeitaria. Via-o na expressão do seu rosto. Não era só por causa da firmeza de irlandês de Bernie Fitzgibbon, aliás. Era também a palavra mágica contrato. Era uma palavra que ia direita ao coração de todos os praticantes daquele ofício. No Banco dos Favores todas as notas válidas tinham de ser trocadas
por dinheiro sonante. Era a lei do sistema de justiça criminal, e Abe Weiss era acima de tudo, uma criatura do sistema.
— Merda, Bernie — disse Weiss — para que é que foi fazer uma coisa dessas? Por amor de Deus...
O confronto terminara.
— Pode crer, Abe, que assim fica mais bem visto. Pelo menos ninguém vai poder dizer que cedeu às paixões da populaça.
— Mmmmmm! Bom, mas para a próxima vez não assuma compromissos destes sem antes me consultar.
Bernie limitou-se a olhar para ele com um sorrisinho que parecia repetir uma vez mais: «Ora gaita, Abe!»
20 - Chamadas do Alto
Gene Lopwitz não recebia as visitas sentado à secretária. Instalava-as num conjunto de poltronas de orelhas de estilo Chippendale inglês e mesinhas Chippendale irlandês, diante da lareira. O conjunto Chippendale, bem como os outros conjuntos de móveis daquela grande divisão, fora concebido por Ronald Vine, o decorador. Mas a lareira fora ideia do próprio Lopwitz. A lareira funcionava. Os contínuos da sala de compra e venda de obrigações que eram como velhos guardas de bancos, podiam realmente acender nela um fogo de lenha — facto que dera azo a várias semanas de escárnio por parte dos cínicos da casa como, por exemplo, Rawlie Thorpe.
Sendo uma torre moderna de escritórios, o prédio não tinha chaminés. Mas Lopwitz, após um ano de retumbantes sucessos, estava decidido a ter uma lareira que funcionasse, toda de madeira trabalhada, no meu ganinete. E porquê? Porque Lord Upland, dono do Daily Courier de Londres, tinha uma. O austero par do reino oferecera a Lopwitz um almoço na sua suite de gabinetes num antigo e imponente edifício de tijolo da Fleet Street, na esperança de o convencer a impingir aos Americanos uma quantidade de acções «criativamente estruturadas» do Daily Courier. Lopwitz nunca se esquecera do mordomo que entrava de tempos a tempos para deitar uma acha no lume quente e alegre da lareira. Era tão... como havia de dizer?... tão baronal, era o que era. Lopwitz sentira-se como um rapazinho cheio de sorte que recebera um convite para ir a casa de um grande homem.
Casa. Era essa a senha. Os Ingleses, com o seu sempre seguro instinto de classe, compreendiam que um homem que estava à cabeça de um negócio, de uma empresa, não devia ter um gabinete igual aos outros, que o faria parecer uma peça substituível da grande engrenagem. Não, devia ter um gabinete que fosse a casa de um nobre, um gabinete que dissesse: «Sou eu, em pessoa, o senhor, o criador e o amo desta grande organização.» Lopwitz tivera que travar uma luta encarniçada com os proprietários do edifício e a companhia que o administrava, e ainda com o Departamento de Construções e o Departamento de Incêndios da Câmara; a instalação das chaminés e do sistema de ventilação custara 350000 dólares, mas ele lá acabara por conseguir o que queria, e agora Sherman McCoy olhava pensativamente para a boca daquela lareira de barão, cinquenta pisos acima da Wall Street, no departamento de obrigações da Pierce & Pierce. Não havia, no entanto, lume na lareira. Fazia já muito tempo que ninguém a acendia.
Sherman sentia dentro do seu peito uma vibração eléctrica de taquicardia. Estavam, ele e Lopwitz, sentados nos grandes monstros Chippendaíe. Lopwitz não tinha muito jeito para fazer conversa de sala, mesmo nas ocasiões mais festivas, e aquela reunião ia ser com certeza bastante desagradável. A lareira... os bichos... Santo Deus... Bom, mas não havia nada pior que parecer um cão batido. Por isso Sherman endireitou-se na cadeira, espetou o seu grande queixo, e até conseguiu olhar ligeiramente de cima para baixo o amo e senhor daquela grande organização.
— Sherman — disse Gene Lopwitz — eu não me vou pôr com rodeios consigo. Respeito-o demasiado para fazer uma coisa dessas.
A vibração eléctrica no seu peito! O pensamento de Sherman corria tão depressa como o seu coração, e deu por si a perguntar aos seus botões, como se não tivesse mais com que se preocupar, se Lopwitz conheceria a origem da expressão «estar com rodeios». Provavelmente não conhecia.
— Tive uma longa conversa com o Arnold na sexta-feira — dizia Lopwitz. — Ora, o que eu tenho para lhe dizer... quero deixar uma coisa bem clara, é que não é o dinheiro, o dinheiro que nós perdemos por muito que tenha sido, o que está aqui em causa. — Esta incursão no domínio da psicologia afundou ainda mais as faces já encovadas de Lopwitz, sulcando-as de rugas de perplexidade. Lopwitz era um fanático do jogging(da variedade «5 da manhã»). Tinha o ar atlético e descarnado dos que todos os dias passam pelas goelas ossudas do grande deus da Aeróbica.
Estava agora a falar do negócio das obrigações da United Fragrance com Oscar Suder, e Sherman sabia que devia prestar toda a sua atenção. Obrigações da United Fragrance... Oscar Suder... e ele pôs-se a pensar no City Light.O que quereria dizer «está iminente uma grande reviravolta no caso Henry Lamb»? O artigo, ainda do mesmo Fallow, era desconcertantemente vago, limitando-se a explicar que a «reviravolta» fora despoletada pelo artigo do City Light acerca das matrículas. Despoletada! Era a palavra que lá vinha! Fora essa palavra que desencadeara a sua taquicardia, enquanto ainda estava escondido na casa de banho. Nenhum dos outros jornais trazia fosse o que fosse sobre o assunto.
Agora Lopwitz falava do facto de ele se ter ausentado sem licença no dia em que chegara a grande emissão de obrigações. Sherman via os gestos afectados de Freddy Button, a brincar com a cigarreira. Os lábios de Gene Lopwitz continuavam a mover-se. O telefone, sobre a mesinha de estilo Chippendaíe irlandês ao lado da poltrona de Lopwitz, tocou nesse momento com um murmúrio discreto. Lopwitz atendeu e disse: — Sim?... O.K., está bem. Ele já está em linha?
Inexplicavelmente, Lopwitz endereçava agora a Sherman um sorriso radioso e dizia: — É só um minuto. Ofereci uma boleia no meu avião ao Bobby Shaflett para ele não ter de faltar a um compromisso em Vancôver. Devem ir agora a sobrevoar o Wisconsin ou o Dakota do Sul ou coisa no género.
Lopwitz baixava agora os olhos, reclinava-se na poltrona de orelhas e sorria ante a perspectiva de falar com a famosa Voz das Montanhas cujo famoso corpanzil gelatinoso estava nesse momento instalado no avião de Lopwitz, um jacto de oito lugares com motores Rolls Royce. Rigorosamente falando, o avião pertencia à Pierce & Pierce, mas para todos os efeitos era dele, pessoalmente, baronalmente. Lopwitz baixou a cabeça, uma grande animação invadiu-lhe repentinamente o rosto, e disse: — Bobby? Bobby? Está-me a ouvir?... Como? Como é que vai isso?... Estão a tratá-lo bem aí em cima?... Está? Está?... Bobby? Está lá? Está-me a ouvir? Bobby?
Ainda de auscultador na mão, Lopwitz olhou para Sherman de semblante carregado, como se acabasse de fazer uma coisa bem pior do que ser enrolado no negócio da United Fragrance ou ausentar-se sem licença. — Merda — disse. — Perdi a ligação. — Carregou num botão. — Miss Bayles?... Perdi a ligação. Veja se consegue tornar a apanhar o avião.
Desligou o telefone com um ar infeliz. Perdera a oportunidade de ouvir o grande artista, a grande bola de sebo e fama, agradecer-lhe o favor, assim prestando à eminência de Lopwitz uma homenagem vinda do céu, de uma altitude de quarenta mil pés acima do coração da América.
— O.K., bom, onde é que nós íamos? — perguntou Lopwitz, irritado como Sherman nunca o vira. — Ah, sim, a Giscard. — Lopwitz pôs-se a abanar a cabeça, como se tivesse acontecido alguma coisa verdadeiramente horrível, e Sherman ficou hirto, porque o falhanço do negócio das obrigações com garantia-ouro era o pior de tudo. No segundo seguinte, porém, Sherman teve a sensação bizarra de que Lopwitz abanava a cabeça por causa da ligação telefónica interrompida.
O telefone tornou a tocar. Lopwitz atirou-se a ele. — Sim?... Apanhou o avião?... O quê?... Bom, está bem, pode-mo passar.
Desta vez Lopwitz olhou para Sherman e abanou a cabeça com um ar frustrado e perplexo, como se Sherman fosse o mais compreensivo dos seus amigos. — É Ronald Vine. Está-me a telefonar de Inglaterra. Está lá no Wiltshire. Parece que me encontrou uns tecidos antigos, para forrar paredes. A diferença horária daqui para lá é de seis horas, portanto tenho de atender agora.
A sua voz apelava para a compreensão e indulgência de Sherman. Tecidos antigos? Sherman ficou sem fala. Mas, receando aparentemente que ele dissesse alguma coisa num momento tão crítico, Lopwitz ergueu um dedo no ar e fechou os olhos por instantes.
— Ronald? De onde é que está a telefonar?... Foi o que eu pensei... Não, conheço até muito bem... Que história é essa de «não lhos vendem»?
Lopwitz embrenhou-se numa discussão com o decorador, Ronald Vine, acerca de um qualquer obstáculo à compra dos tecidos antigos no Wiltshire. Sherman tornou a olhar para a lareira... Os bichos... Lopwitz usara a lareira durante uns dois meses e nunca mais a tornara a acender. Um dia, estando ele sentado à sua secretária, sentira intenso ardor e comichão na parte inferior da nádega esquerda. Descobrira que tinha uma quantidade de borbulhinhas vermelhas...
Picadas, de um bicho qualquer!... A única dedução plausível era que os bichos tinham chegado ao quinquagésimo andar, ao imponente piso das obrigações da Pierce & Pierce, num carregamento de lenha para a lareira, e tinham picado o barão no traseiro. Na grade metálica da lareira estava, neste momento, uma pilha de achas de carvalho de New Hamp-shire, cuidadosamente seleccionadas, esculturalmente perfeitas, perfeitamente limpas, absolutamente anti-sépticas, regadas com uma quantidade de insecticida que chegaria para despovoar uma plantação inteira de bananeiras de toda a espécie de seres vivos, permanentemente instalados, para nunca serem acendidas.
Lopwitz levantou a voz. — O que é isso de não venderem a «negociantes»?... Pois, eu sei que foram eles que disseram, mas sabiam que você mo transmitia a mim. Que conversa é essa de «negociantes»?... Hã, hãaa... Bom, está bem, então diga-lhes que eu também tenho uma palavra para dizer o que eles são... Trayf... eles que descubram. Se eu sou «negociante», eles são trayf... O que é que isso quer dizer? Quer dizer, bom, uma coisa que não é kosher, só que em pior. Em bom inglês acho que a palavra é merda. Há um velho ditado que diz: «Se olharmos as coisas de perto, é tudo trayf», e esses aristocratas carunchosos não são excepção, Ronald. Diga-lhes que peguem nos tecidos antigos e os metam num certo sítio.
Lopwitz desligou e olhou para Sherman com grande irritação.
— Muito bem, Sherman, vamos lá ao que nos interessa. — Pelo tom em que disse isto, parecia que Sherman tinha estado com evasivas, a argumentar, a tentar levá-lo, enfim, a dar-lhe cabo da paciência de todas as maneiras e mais alguma. — Não consigo perceber o que se passou com a Giscard... Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. — Inclinou a cabeça e arvorou a expressão que significa: «Sou um profundo conhecedor da natureza humana».
— Não estou a querer ser intrometido — disse —, mas gostava que me dissesse uma coisa. Anda com problemas em casa, ou...
Por um instante Sherman acalentou a ideia de apelar para a compreensão do outro numa conversa de homem para homem, revelando-lhe parte da história da sua infidelidade. Mas um sexto sentido dizia-lhe que os «problemas em casa» só despertariam o desprezo de Lopwitz e o seu apetite de mexericos, que parecia ser considerável. Por isso abanou a cabeça, esboçou um sorriso, como para mostrar que a pergunta nem sequer o conseguia perturbar, e disse: — Não, nempor sombras.
— Bom, então está a precisar de férias, ou coisa assim? Sherman não soube que responder. Mas ficou mais
animado. Pelo menos não lhe parecia que Lopwitz se estivesse a preparar para o despedir. Na realidade, não chegou a ter que dizer fosse o que fosse, porque entretanto o telefone tornou a tocar. Lopwitz levantou o auscultador, desta vez com menos precipitação.
— Sim?... O quê, Miss Bayles?... Sherman? — Um grande suspiro. — Bom, ele está aqui.
Lopwitz olhou para Sherman com um ar intrigado. — Parece que é para si. — Estendeu-lhe o auscultador.
Muito estranho, Sherman levantou-se, pegou no auscultador e ficou de pé ao lado da cadeira de Lopwitz. — Está?
— Mr. McCoy? — Era Miss Bayles, a secretária de Lopwitz. — Tenho em linha um tal Mr. Killian. Diz que lhe é «indispensável» falar consigo. Quer atender?
Sherman teve um acesso súbito de palpitações. Depois o seu coração voltou à taquicardia regular e galopante. — Quero, sim. Obrigado.
Uma voz disse: — Sherman? — Era Killian. Nunca antes o tinha tratado pelo nome próprio. — Desculpe, mas tinha que o apanhar. — Aquele sotaque, aquela maneira de comer metade das palavras!
— Eu estou no gabinete de Mr. Lopwitz — disse Sherman, no seu tom mais formal.
— Já sei — disse Killian. — Mas eu tinha de ter a certeza que você não se ia embora para outro lado qualquer antes de eu contactar consigo. Recebi agora mesmo uma chamada do Bernie Fitzgibbon. Diz que eles têm uma testemunha em condições de topar as pessoas que estavam no local. Percebe?
— «Topar»?
— Identificá-las.
— Estou a ver... Olhe, eu telefono-lhe quando voltar para a minha secretária. — Mantendo a compostura.
— O.K. Eu estou no meu escritório, mas vou ter de ir ao tribunal. Portanto veja se se despacha. Há uma coisa muito importante que você tem de saber. Eles vão querer recebê-lo amanhã, a título oficial. A título oficial, percebe? Portanto veja se liga depressa para cá. — Pela maneira como Killian disse «a título oficial», Sherman percebeu que aquilo era uma expressão em código, para o caso de alguém no gabinete de Lopwitz estar a ouvir a conversa.
— Muito bem — disse. Mantendo a compostura. — Obrigado. — Poisou o auscultador e, ainda atordoado, tornou a sentar-se na sua poltrona.
Lopwitz continuou a falar como se o telefonema não tivesse existido. — Como eu lhe disse, Sherman, o problema não é você ter feito perder dinheiro à Pierce & Pierce. Não é disso que eu estou a falar. A Giscard foi uma ideia sua. Era uma manobra excelente, e foi você quem teve a ideia. Mas, que diabo, você passou quatro meses a trabalhar nisso, e é o nosso vendedor número um. Portanto o problema não é o dinheiro que nos fez perder, é que eu tenho aqui à minha frente um indivíduo de quem nós esperamos o melhor, e de repente vejo-me numa situação em que temos uma longa série de coisas, destas coisas de que eu lhe estive a falar...
Lopwitz calou-se e ficou embasbacado a olhar para Sherman que, sem uma palavra, se levantava abruptamente da cadeira. Sherman sabia o que estava a fazer, mas ao mesmo tempo parecia não ter o menor controlo sobre os seus gestos. Não podia levantar-se assim e deixar Gene Lopwitz a falar sozinho no meio de uma conversa crucial sobre o seu trabalho na Pierce & Pierce, mas também não se sentia capaz de ficar ali sentado nem mais um segundo.
— Gene — disse — vai ter de me desculpar. Tenho que sair. — Ouviu a sua própria voz como se fosse a de outra pessoa. — Lamento muito, mas tem mesmo que ser.
Lopwitz continuou sentado e olhou para Sherman como se ele tivesse enlouquecido.
— Foi este telefonema — disse Sherman. — Peço imensa desculpa.
Encaminhou-se para a porta do gabinete. Na periferia do seu campo de visão, continuava a ver Lopwitz, que o seguia com os olhos.
Lá fora, na sala de compra e venda de obrigações, a loucura das manhãs estava no auge. Ao dirigir-se para a sua secretária, Sherman sentia-se como se navegasse no meio de um delírio.
— ... as de Outubro de noventa e dois... mais um dólar...
— ... eu disse para arrumarmos esses sacanas de uma vez!
Ahhhhh!, as migalhas de ouro... Como tudo aquilo parecia vão!...
Quando se sentou à secretária, Arguello abeirou-se dele e perguntou-lhe: — Sherman, sabes alguma coisa acerca dos 10 milhões de& Ls da Joshua Tree?
Sherman repeliu-o com um gesto, um gesto semelhante ao que faria se quisesse afastar alguém de um fogo ou da beira de um penhasco. Reparou que o seu indicador tremia ao marcar o número de Killian nas teclas do telefone. Foi a recepcionista que atendeu, e Sherman reviu mentalmente a luminosidade crua da recepção do escritório no velho prédio de Reade Street. No instante seguinte tinha Killian em linha.
— Está num sítio onde possa falar? — perguntou ele.
— Estou. O que é que queria dizer com isso de receberem-me a título oficial?
— Querem metê-lo dentro. É contra todos os princípios éticos, é desnecessário, é uma palhaçada, mas é o que eles vão fazer.
— Meter-me dentro? — No próprio instante em que repetiu a frase, teve a sensação horrível de que sabia o que Killian queria dizer. A pergunta era uma súplica involuntária do seu sistema nervoso central para que tivesse percebido mal.
— Vão dar-lhe voz de prisão. É incrível. O que eles deviam era apresentar as provas que têm, sejam lá elas quais forem, a um júri, para lavrarem a acusação formal, e só então é que o citavam. O Bernie sabe disso, mas o Weiss precisa de prender alguém rapidamente para ver se a imprensa o larga.
A garganta de Sherman ficou seca logo a partir da «voz de prisão». O resto eram só palavras.
— Voz de prisão? — Um gemido.
— O Weiss é uma besta — disse Killian — e para ficar de bem com a imprensa até vendia a mãe se fosse preciso.
— Prender-me... não pode ser verdade. — Por favor, fazei com que não seja verdade. — Como é que eles podem... de que é que eu vou ser acusado?
— De fazer perigar a vida de terceiros, de abandonar o local do acidente e de não ter dado parte da ocorrência.
— Não acredito. — Por favor, fazei com que isto seja um sonho. — Pôr em perigo a vida de terceiros? Mas, pelo que você disse... quer dizer, como é que eles podem? Eu nem sequer ia a guiar!
— Não é o que diz a testemunha deles. O Bernie disse que a testemunha identificou a sua fotografia de entre uma série delas.
— Mas eu não ia a guiar!
— Só lhe estou a dizer que o Bernie me disse. Ele ainda me adiantou que a testemunha também sabia a cor e o modelo do seu carro.
Sherman ouvia a sua própria respiração acelerada e o ruído de fundo da sala de compra e venda de obrigações.
Killian disse: — Está lá?
Sherman, em voz rouca: — Sim... Quem é essa testemunha?
— Isso, ele não me quiz dizer.
— É o outro rapaz?,
— Ele não me disse.:
— Ou... meu Deus!... ou Maria?
— Ele não me vai dizer isso.
— Disse-lhe alguma coisa sobre o facto de ir uma mulher no carro?
— Não. Por enquanto eles não vão revelar esses pormenores. Mas ouça. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não vai ser tão mau como você pensa. O Bernie comprometeu-se comigo a deixar-me levá-lo lá amanhã e entregá-lo pessoalmente. Vai ser só entrar e sair. Trás, trás.
Entrar e sair de onde? Mas o que perguntou foi: — Entregar-me?
— Pois. Se eles quisessem, podiam ir aí prendê-lo, e levá-lo algemado até lá acima.
— Lá acima, onde?
— Até lá ao Bronx. Mas isso não vai acontecer. Tenho a palavra do Bernie. E quando eles mandarem o comunicado à imprensa já você se foi embora. Bem pode ficar grato por isso.
A imprensa... o Bronx... entregar-se... fazer perigar a vida de terceiros... tudo abstracções grotescas, umas atrás das outras. E no instante seguinte o seu desespero era não conseguir visualizar o que ia acontecer, não conseguir imaginá-lo, por muito mau que fosse, e ver-se assim limitado a sentir apenas um enorme peso que o esmagava.
Killian disse: — Está lá?
— Sim.
— Bem pode agradecer ao Bernie Fitzgibbon. Lembra-se do que eu lhe dissera acerca dos contratos? Pois bem, isto foi um contrato entre mim e o Bernie.
— Ouça — disse Sherman — eu tenho de ir aí falar consigo.
— Agora tenho de ir ao tribunal. Até já estou atrasado. Mas lá pela uma devo estar despachado. Apareça aqui por volta da uma. Aliás, você também deve precisar de uma ou duas horas para si.
Desta vez Sherman sabia exactamente do que Killian estava a falar. — Oh, meu Deus — disse na sua nova voz rouca — tenho que falar com a minha mulher. Ela está a milhas de tudo isto. — Falava tanto consigo mesmo como com Killian. — E a minha filha, e os meus pais... e Lopwitz... não sei.v não faz ideia... isto é absolutamente incrível.
— É como se lhe faltasse o chão debaixo dos pés, não é verdade? Nada mais natural. Você não é um criminoso. Mas olhe que não vai ser tão mau como você pensa. Isto não quer dizer que eles tenham provas suficientes. Só quer dizer que acham que podem avançar com aquilo que têm. Por isso vou-lhe dizer uma coisa. Ou melhor, vou-lhe tornar a dizer o que já disse. Você vai ter de explicar a várias pessoas o que se está a passar, mas não entre em pormenores sobre o que aconteceu naquela noite. Quanto à sua mulher — bom, diga-lhe o que bem entender, isso é um problema seu e dela, e aí não posso ser eu a aconselhá-lo. Mas às outras pessoas não dê pormenores. Isso pode ser usado contra si.
Sherman sentiu-se submerso por uma vaga de emoções tristes, tão tristes! O que é que ia dizer a Campbell? E o que é que ela reteria do que as outras pessoas dissessem sobre ele? Seis anos; tão ingénua; uma rapariguinha que adora flores e coelhos.
— Compreendo — disse, numa voz profundamente deprimida. Como é que Campbell podia ficar esmagada por tudo aquilo?
Depois de se despedir de Killian, deixou-se ficar sentado à sua secretária, com as letras e números verdes fluorescentes a deslizar diante dos lhos nos terminais do computador. Logicamente, intelectualmente, ele sabia que Campbell, a sua menina, seria a primeira pessoa a acreditar nele e a última a perder a confiança que nele depositava, mas não lhe servia de nada pensar logicamente e intelectualmente no assunto. Parecia-lhe ver à sua frente o rosto terno e delicado da filha.
A sua preocupação com Campbell teve, pelo menos, um efeito positivo. Retirou boa parte do peso à primeira das suas tarefas difíceis, que era ir falar outra vez com Eugene Lopwitz.
Quando tornou a aparecer na suite de Lopwitz, Miss Bayles olhou-o com um ar desconfiado. Era evidente que Lopwitz lhe tinha dito que ele saíra do gabinete como um louco, sem dar explicações. Apontou-lhe uma espaventosa cadeira de braços franceses e não tirou os olhos de cima dele durante os quinze minutos que Lopwitz o fez esperar antes de o receber de novo.
Lopwitz estava de pé quando Sherman entrou no gabinete e não lhe disse para se sentar. Pelo contrário,
interceptou-o a meio do imenso tapete oriental que cobria o chão da sala, como se lhe dissesse: «Está bem, eu torno-te a receber. Mas vê se te despachas».
Sherman espetou o queixo e tentou compor um ar digno. Mas sentia-se zonzo só de pensar no que estava prestes a revelar, a confessar.
— Gene — disse —, eu não queria sair daqui daquela maneira brusca , mas não tive outra hipótese. A chamada veio mesmo no meio da nossa conversa. Perguntou-me há pouco se eu tinha algum problema. Pois bem, a verdade é que tenho. Vou ser preso amanhã de manhã.
A princípio Lopwitz ficou a olhar para ele, em silêncio. Sherman reparou como as suas pálpebras eram espessas e enrugadas. Depois o outro disse: — Vamos para aqui — e apontou para o canto das poltronas de orelhas.
Tornaram a sentar-se. Sherman sentiu uma ponta de ressentimento ao ver a expressão gulosa da cara gorda de Lopwitz, uma perfeita expressão de voyeur. Sherman contou-lhe o caso Lamb tal como aparecera nos jornais e depois a visita dos dois detectives a sua casa, embora omitindo os pormenores humilhantes. Enquanto ia falando olhava o rosto fascinado de Lopwitz e sentia a excitação e a náusea do libertino impenitente que resolve distribuir o seu ouro depois de uma vida passada a espalhar moeda falsa, e viver sensatamente depois dos mais negros e vis pecados. A tentação de dizer tudo, de ser realmente um libertino, de falar das doces ancas de Maria Ruskin, do combate na selva e da sua vitória sobre os dois brutamontes — de dizer a Lopwitz que aquilo que fizera, fizera-o como um homem — e que, como homem, o seu comportamento fora irrepreensível — mais do que irrepreensível, talvez até tivesse sido o comportamento de um herói — a tentação de desvendar todos os aspectos daquele drama — em que não me coube a mim o papel do vilão! — essa tentação quase foi mais forte que ele. Mas conseguiu conter-se.
— Foi o meu advogado que telefonou quando aqui estava, Gene, e ele disse-me para eu não entrar nos pormenores do que aconteceu ou não aconteceu, pelo menos por enquanto, mas uma coisa quero que saiba, principalmente porque não sei o que é que a imprensa vai dizer acerca disto tudo. O que eu quero que saiba é que eu não atropelei ninguém com o meu automóvel, nem conduzi de maneira perigosa, nem fiz nada que me pese, por pouco que seja, na consciência.
Assim que disse «consciência» ocorreu-lhe que os culpados falam sempre da sua consciência limpa.
— Quem é o seu advogado? — perguntou Lopwitz
— Chama-se Tommy Killian.
— Não conheço. Devia era contratar o Roy Branner. É o melhor advogado de Nova Iorque. Fabuloso. Se eu alguma vez me visse em apuros, era a ele que contratava. Se quiser, eu telefono-lhe.
Perplexo, Sherman ficou a ouvir Lowitz dissertar acerca das capacidades do fabuloso Roy Branner, dos processos que ele tinha ganho, da forma como o tinha conhecido, de como eram íntimos e a sua mulher era amiga da dele, e do muito que Roy faria por Sherman se ele, Gene Lopwitz lhe dissesse uma palavrinha.
Era, portanto, aquele o primeiro e insencível instinto de Lopwitz ao saber da crise por que Sherman estava a passar: falar-lhe dos cordelinhos que podia mexer, das pessoas importantes que conhecia e da influência que ele, o magnético barão, tinha sobre um Nome Sonante. O segundo instinto era de ordem mais prática. O que o despoletou foi a palavra imprensa. Lopwitz propôs, num tom que não admitia discussão, que Sherman pedisse uma licença por prazo indeterminado até aquele assunto desagradável estar resolvido.
Esta sugestão perfeitamente razoável, muito calmamente apresentada, alarmou Sherman. Se ele pedisse uma licença, talvez (mas nem disso estava seguro) continuasse a receber o seu salário de base de 10000 dólares por mês, menos de metade do que tinha de pagar mensalmente em letras do empréstimo da casa. Mas já não receberia a sua parte das comissões e dos lucros da venda de obrigações. Para todos os efeitos, deixaria praticamente de ter rendimentos.
O telefone sobre a mesinha Chippendale tocou, com o murmuriozinho discreto. Lopwitz atendeu.
— Ah, sim?... Conseguiu? — Grande sorriso. — Óptimo... Está?... Está lá?... Bobby? Está-me a ouvir? — Olhou para Sherman, dirigindo-lhe um sorriso descontraído, e formou com os lábios as sílabas do nome do interlocutor, Bobby Shaflett. Depois baixou os olhos e concentrou-se no aparelho. Tinha o rosto animado e tenso de pura alegria. — Então está tudo a correr bem?...Óptimo! Ora, faço isto com o maior prazer. Espero que lhe tenham dado alguma coisa que comer...Óptimo, óptimo. Ouça. Se precisar de alguma coisa, é só pedir-lhes. São muito bons tipos. Sabia que tanto um como o outro foram pilotos no Vietname?... É verdade. São uns tipos impecáveis. Se quiser uma bebida ou outra coisa qualquer, é só pedir-lhes. Tenho aí no avião um Armagnac de 1934. Acho que está arrumado lá atrás. Peça ao mais baixinho, o Tony. Ele sabe onde está... Bom, então no regresso, logo à noite. É muito bom. 1934 é capaz de ter sido o melhor ano de sempre para o Armagnac. Muito macio. Ajuda-o a descontrair... Então está tudo bem, hã?... Estupendo. Bom...Como? De nada, Bobby. Faço isto, com todo o gosto, pode crer.
Quando desligou, não podia ter um ar mais satisfeito. O cantor de ópera mais famoso da América estava no seu avião, a apanhar uma boleia para Vancôver, no Canadá, com os dois antigos pilotos da Força Aérea ao serviço de Lopwitz, veteranos de combate do Vietname, a servirem-lhe de motorista e de mordomo, oferecendo-lhe Armagnac com mais de meio século de idade, a 1200 dólares a garrafa; e agora aquele indivíduo maravilhoso, redondo, célebre acabava de lhe agradecer, de lhe mandar os seus melhores cumprimentos, lá do alto, de quarenta mil pés acima do estado de Montana.
Sherman olhou para o rosto sorridente de Lopwitz e assustou-se. Lopwitz não estava irritado com ele. Não estava perturbado. Nem sequer parecia particularmente surpreendido. Não, o destino de Sherman McCoy não era assim tão importante. A vida de «estilo inglês» de Eugene Lopwitz sobreviveria aos problemas de Sherman McCoy, e a Pierce & Pierce também. Toda a gente saborearia durante algum tempo aquela história picante, e as obrigações continuariam a ser vendidas em grandes quantidades, e o novo vendedor número um — quem? — Rawlie? — ou outra pessoa? — seria convocado para a sala de reuniões de Lopwitz de estilo Chá-das-Cinco-no-Connaught, para discutir o investimento dos biliões da Pierce & Pierce nesta ou naquela zona do mercado. Mais uma chamada telefónica aérea de alguma outra celebridade gorda e Lopwitz era capaz de esquecer até que ele existia.
— Bobby Shaflett — disse Lopwitz, como se ele e Sherman estivessem ali confortavelmente sentados a tomar uma bebida antes do jantar. — Estava a passar por cima do estado de Montana quando telefonou. — Abanou a cabeça e soltou uma gargalhadinha, como se dissesse: «Que tipo fantástico!»
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa