



Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




Biplano
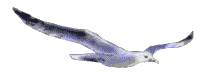
Se Dick Bach tentasse escrever um livro sobre a aviação, não o conseguiria. O que é um elogio. Se, por «aviação», entendemos um simples manual de sistemas e exercícios técnicos, um manual que diz como levantar voo e aterrar, como reparar um motor ou pôr cordas novas na nossa harpa de cordas de piano de 1917, é óbvio que logo a partir da primeira página deste livro não é isso que o realmente jovem Sr. Bach tem para nos oferecer.
Se, por outro lado, o que pretendemos é arejar os nossos conhecimentos, subir com ícaro, descer com Montgolfier e voltar a subir com os Wright, completamente expostos ao ar e a saboreá-lo plenamente, nesse caso, o que temos a fazer é entregarmo-nos nas mãos do moço da lavoura, Tom Swift, de Dick Bach. Do mesmo modo que o seu tetravô, Johann Sebastian Bach, não «escrevia», mas exalava, música, também Dick Bach não «voa», mas emana o prazer de voar.
Escrevo sobre a fantasia, não a descrevo. Mas não resisto a descrever-vos Dick Bach. É alto e anguloso e parece inclinar-se todo ao entrar em vossas casas, tal como Gulliver ao entrar em casa de um liliputiano. Devia ter chegado do campo. O que faz sentido, pois provavelmente tinha aterrado o biplano de emergência na zona norte, e é de supor que, na sua busca de tempo favorável, tivesse ajudado nas colheitas.
É um americano simplório, dessa espécie de funileiros de barco a remos que vimos germinar como feijão à luz da Revolução, como se fosse a noite de estreia de um novo modo de vida, só que, em vez de ser a noite, é o dia e, em lugar de cortinas de veludo, que, majestosamente, se abrem, há portões de hangar em folha ondulada, que, mais obstinada que majestosamente, ribombam e arranham os sulcos do pavimento. No interior do hangar, mergulhado ainda na obscuridade e com duas grandes poças de sombra por debaixo das asas, que se vão evaporando à medida que os portões deslizam, está o novo modo de vida. Um biplano antigo.
Estou aqui para negociar, para fazer uma troca. Tão simples como isso. Uma mera troca com um aeroplano antigo, coisa que acontece todos os dias. Não há, portanto, a mínima razão para estar apreensivo.
Apesar disso, do hangar precipita-se para min uma multidão de maus pressentimentos. É que se trata de um aeroplano antigo. E, vejam-no com que olhos o virem, o que interessa é que este aeroplano foi construído em 1929, tudo o mais se passa hoje e quem quiser levá-lo consigo para a Califórnia terá de fazer nele mais de duas mil e setecentas milhas de América.
No entanto, é, na verdade, um belo aeroplano. Pintado de vermelho e amarelo escuros, é um velho biplano de voos de exibição (voos de baptismo), com rodas grandes e altas, dois cockpits abertos e um autêntico «jogo do galo» de fios de arame entre as asas.
Tem mas é juízo! Até tens um óptimo aeroplano. Ou será que já te esqueceste das horas, do trabalho e do dinheiro que empataste na reconstrução do teu aeroplano? E só lá vai um ano! Um. Fairchild 24 de 1946, totalmente reconstruído, tão bom como se fosse novinho-em-folha! Ou ainda melhor que isso, porque lhe conheces todas as nervuras, a estrutura inteira e os cilindros todos do motor e sabes que estão em perfeito estado. Achas que podes dizer o mesmo deste biplano? Como é que sabes que, debaixo dessa tela, não há nervuras ou longarinas partidas?
Quantos milhares de milhas não fizeste tu com o Fairchild?No Nordeste, desde o dia em que o tiraste do hangar em Colt’s Neck, Nova Jérsia, foram milhares. Depois, de Colt’s Neck para Los Angeles, outros tantos milhares, com mulher e filhos a contemplarem o país pela primeira vez, quando mudámos de residência. Já te esqueceste dessa viagem e do aeroplano que te deu a conhecer o país real, com rios a correr, grandes montanhas escarpadas e pendões de trigo ao sol? Construíste este aeroplano de forma a que não houvesse mau tempo que conseguisse detê-lo, com todos os instrumentos de voo necessários, dois rádios para comunicação e navegação e uma cabina fechada, de protecção contra o vento e a chuva. E ainda agora ele te trouxe, por outros tantos milhares de milhas, de Los Angeles para esta terreola de Lumberton, na Carolina do Norte.
O clima desta região é bom para os planos. EmLumberton, o mês de Março é como o de Junho ou o de Agosto. Mas, no trajecto para casa, já é completamente diferente. Lembras-te dos lagos gelados do Arizona, há três dias? E a neve em Albuquerque? Não é clima para um biplano de cockpit aberto! De momento, o biplano está no lugar que lhe é devido. Em Lumberton, com verdes plantações de tabaco à volta do aeroporto, na companhia de outros aeroplanos antigos abrigados nas proximidades e com o seu distinto proprietário a dispor do seu tempo de exercício da advocacia para lhe prestar assistência.
Este biplano não é como o meu aeroplano, não é sequer o teu tipo de aeroplano. Pertence e devia continuar a pertencer a Evander M. Britt, dos Britt e Britt, delegados do Ministério Público, um apaixonado de aeroplanos antigos, com disponibilidade de tempo para cá vir e lhe dar assistência. Evander Britt não tem projectos loucos nem a mais pequena intenção de percorrer o país neste aeroplano. Conhece bem as suas capacidades, tal como as suas limitações. Sê realista. Volta mas é para casa no teu Fairchild e esquece esta loucura. Quando Evander Britt pôs o anúncio no jornal, o que ele queria era tentar arranjar uma asa inferior Aeronca, por que tanto suspirava, logo ali ao fundo da estrada, e não propriamente um Fairchild 24 novinho-em-folha, proveniente de Los Angeles, Califórnia. Ainda por cima, o biplano nem sequer um rádio xtem!
E isso. Fazer um negócio destes é trocar o conhecido pelo desconhecido. Mas, por outro lado, o que está em causa é o biplano em si. Não há lógica, conhecimento nem convicção alguma que me confira o direito de o tirar ao Sr. Britt. Enquanto secretário da Antique Airplane Association local, assiste-lhe o direito de possuir um biplano. Precisa de ter um biplano. E uma perfeita loucura embarcar num negócio destes. Este engenho é, de facto, o sinal de que ele pertence a uma privilegiada minoria.
Mas Evander Britt já é suficientemente adulto para saber o que faz e por isso não tenho de me preocupar com as razões que o levam a querer o Fairchild nem com o dinheiro que gastei para o reconstruir ou sequer com as milhas que nele percorri. O que eu sei é que quero ficar com aquele biplano. E também que quero ficar com ele para viajar no tempo e para experimentar um aeroplano difícil e, ao voar, sentir o vento e as pessoas a olharem, a verem com os seus próprios olhos, para ficarem a saber que a glória ainda existe. Quero fazer parte de algo que seja importante e glorioso.
À partida, pode ser um negócio sério, porque qualquer dos aeroplanos vale o mesmo dinheiro. Mas, para além do dinheiro, não têm absolutamente nada em comum. E, afinal, o biplano? Quero ficar com ele, porque quero. Trouxe o saco-cama e o lenço de seda de propósito para voltar para casa de biplano. A minha decisão está tomada e, a partir do momento em que toco numa ponta de asa escura, nada conseguirá alterá-la.
-Vamos pô-lo a rodar lá para fora, para cima da relva diz Evander Britt. -Puxe pelo tirante exterior da asa, aí ao fundo...
Com aluz do sol, o vermelho e o amarelo escuros adquirem uma tonalidade vermelho-viva e flamejante, e o biplano de asas divididas em quatro painéis distintos de tela e madeira e com um motor de cinco cilindros pretos torna-se resplandecente como o nascer do Sol. Este biplano tem 35 anos, e este hangar podia muito bem ser a fábrica, e esta atmosfera a de 1929. Pergunto a mim mesmo se os aeroplanos não nos considerarão como cães e gatos, uma vez que, por cada ano que eles têm a mais, envelhecemos nós quinze ou vinte, e, assim como os animais domésticos partilham o nosso tecto, também nós partilhamos com os aeroplanos o tecto, sempre à deriva, do céu.
- ... não é assim tão difícil pô-lo a funcionar, mas é preciso começar por fazer a combinação certa. Umas quatro injecções de combustível, roda-se a hélice umas cinco ou seis vezes...
Este cockpit é esquisito, é completamente diferente dos outros. É um buraco profundo de madeira e tela, forrado de couro, com cabos e arames a arrastarem pelo soalho de madeira, três hastes arqueadas de comandos do motor à esquerda, uma válvula de combustível e mais comandos do motor à frente, seis instrumentos básicos de motor e de voo num minúsculo painel de instrumentos pintado de preto. E nem um único rádio.
Mais abaixo, mesmo em frente dos meus olhos, há um pára-brisas de quatro faces. Se, de um momento para o outro, começa a chover, vai ficar tudo encharcado de água.
- Dê-lhe duas bombadas lentas com o acelerador.
- Uma... duas. Já está. - É curioso. Nunca se ouve falar de cockpits a transbordar de água, mas que é que acontece se chove numa coisa destas?
-Mais uma injecção de combustível, e ligue os interruptores.
Ouvem-se cliques no painel de instrumentos.
- Contacto! Travões.
A hélice oscila rapidamente para baixo e, de repente, o motor começa a trabalhar, suspende a respiração e sufoca e tosse roucamente com o frio da manhã. O silêncio corre, assustado, à frente do barulho e vai esconder-se nos recantos longínquos da floresta circundante. Nuvens de fumo azul elevam-se em espiral para, no segundo seguinte, desaparecerem, e a pá (da hélice) prateada transforma-se num grande leque aberto soprando para cima de mim como um gigante a bufar a um dente-de-leão, com um som que supera o do motor e que é como um vento forte de oeste a varrer os pinheiros.
Não enxergo nada à minha frente a não ser o aeroplano; um cockpit dianteiro de dois lugares, um coupe-vent amplo e uma mancha prateada, que é a hélice em rotação. Largo os travões e, pelo outro lado do cockpit, olho para o grande leque de vento, para o gigante de vento, e levo o acelerador à frente está completamente cristalizado e, se um dia se parte, lavem vocês por aí abaixo. E a madeira destes aeroplanos? Vejam bem como está velha. Completamente pobre, ainda que não pareça. Se apanharem um poço de ar ou uma rabanada de vento, logo uma das asas se volta ao contrário e começa a bater, se não acontecer pior ainda, se não se virar sobre o cockpit de tal forma que nem sequer de pára-quedas conseguirão saltar. Mas o pior de tudo é a aterragem. Os biplanos têm um trem de aterragem tão estreito e um leme de direcção tão curto que não permitem grandes manobras, e, num abrir e fechar de olhos, se escapam, ficando a rolar pela pista num emaranhado de arames, estilhaços e tela esfarrapada. São pura e simplesmente traiçoeiros. Exactamente assim, traiçoeiros.
Mas este aeroplano parece ser dócil e estar em tão boa forma como uma mulher nova que tente seriamente impressionar bem o mundo. Oiçam só este motor a trabalhar. É suave como o motor afinado de um carro de corridas, nem um só cilindro está fora de tom. «Imprevisível», sem dúvida.
Uma rápida aceleração do motor aqui mesmo na relva, antes de descolar. Os órgãos de comando são independentes uns dos outros e estão a funcionar como deve ser e os indicadores da pressão do óleo e da temperatura apontam os níveis normais. A válvula do combustível está ligada, a mistura é rica, as alavancas estão nos seus devidos lugares. O mesmo acontece com a alavanca da ignição e com a serpentina do amplificador magnético que, nos últimos trinta anos, deixaram de existir nos aviões.
Ora muito bem, aeroplano, vamos ver então como é que voas. Um discreto toque de cotovelo no acelerador, um toque no leme de direcção à esquerda para fazer o nariz oscilar na direcção do vento, perante a enorme extensão de relva crescida e húmida do aeroporto. Bem podiam ter eliminado estes barulhos há muito tempo.
Prendo o capacete ao queixo e ponho os óculos.
Empurro o acelerador completamente para a frente e o gigante (a hélice) sopra, com um ruído insuportável, o ar da turbina para cima de mim. Não me parece que estes motores sejam propriamente silenciosos.
Levo a alavanca de direcção à frente e, imediatamente, a cauda começa a mover-se. Os biplanos foram feitos para pequenos campos relvados. Em 1929 não havia muitos aeroportos. Daí, também, as rodas serem grandes. Assim, tanto passam pelos regos de uma terra de pasto como por uma pista de corridas ou por uma estrada suburbana. Os biplanos foram feitos para descolar do campo, porque era aí que os passageiros da altura viviam, era no campo que eles ganhavam a vida.
A relva vai-se tornando numa mancha de feltro verde e o biplano já não exerce pressão sobre as rodas.
E de repente o chão deixa de existir. As asas brilhantes sobem suavemente no céu, o motor ribomba no seu tambor oco, as rodas altas, ainda a girarem, são recolhidas. Mas, escuta! É o vento a bater nos arames! E agora está aqui, à minha volta. Afinal não desapareceu de vez. Não ficou perdido nos livros amarelecidos e cobertos de pó, com fotografias cor de sépia. Está aqui, neste momento, todo o seu sabor. O som penetrante nos meus ouvidos e o chicotear do meu cachecol - o vento! Está agora aqui por mim como aqui esteve outrora pelos primeiros pilotos, esse mesmo vento que levava as palavras que eles transmitiam pelo megafone através das terras de pasto do Ilionóis, dos prados do lova, das áreas reservadas a piqueniques da Pensilvânia e das praias da Florida. «Eia! Senhores! São cinco dólares por cinco minutos. Cinco minutos com as nuvens de Verão, cinco minutos na terra dos anjos. Vejam a vossa cidade do ar. Você aí, senhor. Que tal levar a menina para uma aventura? É absolutamente segura, perfeitamente inofensiva. É sentir o vento fresco que sopra onde só os pássaros e os aeroplanos conseguem habitar.» O mesmo vento a tamborilar na mesma tela, a assobiar pelos mesmos arames, a esbarrar-se contra os mesmos cilindros de motor, a ser cortado às fatias pela mesma hélice brilhante e afiada e a agitar-se e a enfurecer-se com a mesma passagem do mesmo engenho que o enfureceu há tantos anos.
Se o vento e o sol e as montanhas acima do horizonte não mudam, aquilo que nas nossas mentes e nos nossos calendários é um ano acaba por não ser nada. Por exemplo, aquela casa de campo, ali embaixo. Como é que posso afirmar que é uma casa moderna e não uma casa de 1931?
Agora vai um carro moderno a passar na estrada. De momento, ele é o único indício de época que eu tenho. Não são os calendaristas que nos dão a noção de que o tempo passa, mas sim aqueles que concebem os automóveis, as máquinas de lavar loiça, os aparelhos de televisão e as tendências actuais da moda. Portanto, se não aparece um carro novo, é porque o tempo pára. Arranjem um aeroplano antigo, dêem umas bombadas na seringa injectora de combustível, façam girar a hélice e verão que é fácil dominar o tempo, moldá-lo de uma forma mais requintada, dar às suas características uma expressão mais agradável. O aeroplano é um engenho de evasão. Subam para o cockpit, movam as alavancas, rodem as válvulas, ponham o motor a funcionar, ergam-se da relva para o grande oceano imutável do ar e tornem-se os donos do vosso próprio tempo.
Ao voarmos, a personalidade do biplano vai penetrando em mim. O compensador do leme de profundidade tem de estar quase completamente em baixo para evitar que o nariz levante ao retirar a mão da alavanca de direcção. A potência do aileron é grande, enquanto a do leme de direcção e do leme de profundidade é fraca. Ao tomar altitude, mesmo que leve o acelerador completamente à frente, não consigo obter da hélice mais de 1750 rpm1. A posição de voo paralela à linha do horizonte encontra o seu ponto de equilíbrio exactamente acima das cabeças dos cilindros Número Dois e Número Cinco. O aeroplano começa, lentamente, a perder a velocidade, mas, antes de a perder ouve-se um leve batimento na alavanca de comando, que é um aviso de que o nariz vai começar a tombar, mesmo com a alavanca de direcção puxada atrás. Este aeroplano não é nada traiçoeiro, não hajam dúvidas! Naturalmente, quando afastamos a cabeça do pára-brisas de vidro, torna-se muito ruidoso; não é nada silencioso como os aviões modernos. Mas, quando o aeroplano se aproxima da velocidade mínima de sustentação, o barulho diminui; se está a voar demasiado depressa, dá sinal, guinchando. Lá fora, em frente ao piloto, só se vê aeroplano. Após uma hora de voo, o pára-brisas da frente fica embaciado com a película do óleo e a gordura da caixa oscilante de lubrificação. Se o acelerador se mantiver recuado durante algum tempo, há logo uma falha na ignição e o motor afoga-se quando ele voltar à frente. Evidentemente que não é difícil pilotar este aeroplano. E está mais que visto que não tem manhas nenhumas.
Circulo agora à volta do aeroporto com as suas grandes pistas como faixas brancas na relva. Dizem que o momento mais difícil é o da aterragem. Tenho de examinar bem o campo para ter a certeza de que a pista está livre. Quando estiver pronto a aterrar, aquele enorme nariz vai impedir-me de ver para a frente e só me resta acreditar que não há nada a obstruir-me o caminho até reduzir a velocidade e começar a andar aos esses para conseguir ver. É naquele campo que vou aterrar, com relva à beira da pista. Mais à esquerda, ficam as bombas de gasolina, onde está um pequeno grupo de pessoas a observar.
Deslizamos ao longo de uma rampa que do céu não se vê, passando por dois enormes choupos que estão de guarda à aproximação da pista. O biplano move-se tão devagar que dá tempo para contemplar os choupos e ver as suas folhas prateadas agitarem-se ao vento. De seguida, no momento em que, lá em baixo, surge a pista, olho para o lado e calculo a altitude, imagino a altura a que as rodas ficam da relva e, com um tremor, vem a velocidade mínima de sustentação e o aeroplano pousa e começa a rolar, leme de direcção à esquerda, leme de direcção à direita, mantém-no na posição de aproximação à pista, não o deixes fugir, e agora só um toque no leme de direcção à direita. E é tudo o que há a saber. Mais simples do que isto não pode ser. -• Bop ata
Mais uma descolagem, mais uma aterragem, e aprende-se mais qualquer coisa. De certo modo, ao deslizar para o hangar, fico espantado com a facilidade com que as histórias e os avisos sérios perdem a consistência.
- Evander Britt, acaba de fechar o negócio.
A troca ocorre num dia em que da floresta nos chega apenas um ou outro sussurro, sinal, talvez, de que nela se esconde algum mau pressentimento.
Sou agora proprietário de um Detroit-Ryan Speedster de 1929, modelo Parks P-2A.
Adeus, Fairchild. Voámos muitas horas e aprendemos muitas coisas juntos. A respeito de instrumentos que zumbem e das coisas que acontecem quando deixam de zumbir, do lançamento de feixes de ondas electromagnéticas sobre a Pansilvânia, o Ilinóis, Nebrasca, Utá e a Califórnia, da aterragem de aviões a jacto, uns a seguir aos outros, em aeroportos internacionais e a respeito de praias com uma única gaivota ou borrelho para nos pôr a andar. Mas a partir de agora há outras coisas a aprender e problemas diferentes a resolver.
Os portões do hangar, que se tinham aberto a um novo modo de vida, fecham-se agora a um modo de vida passado. No cockpit da frente do Parks, vão o saco-cama, sanduíches e o cantil de água, bidões de óleo de sessenta libras de peso, coberturas de cockpit, velas de ignição C-26, ferramentas, fita magnética e uma bobina de arame flexível.
Encho o depósito de gasolina para as suas cinco horas. Um último aperto de mão de Evander Britt e, dos que estão ao lado dele e sabem do meu plano de voo, algumas palavras de desalento.
- Boa sorte.
- Agora, vá com calma.
- Tenha cuidado, está a ouvir?
Um repórter de jornal mostra-se ansioso por saber que o biplano tem mais sete anos que o respectivo piloto.
Com o motor a trabalhar, a murmurar baixinho no fundo do seu tambor, concentro a atenção nos estranhos aprestos do pára-quedas, aperto o cinto de segurança e vou trepidar pela relva, deixando-a a abanar atrás de mim, para me colocar em Aposição de descolar.
E um desses momentos em que não temos dúvidas de que é importante, que é um momento que vai ficar na memória. É nesse momento que o velho acelerador vai à frente sob a acção da minha mão enfiada numa luva e que o primeiro segundo de uma longa viagem começa a contar. Os pormenores técnicos estão agrupados aqui à volta: rpm, 1750; pressão do óleo a 70 libras por polegada quadrada, temperatura do óleo a 100 F. Os outros pormenores também estão aqui, e estou preparado para aprender de novo: não consigo ver nada à frente deste aeroplano quando ele está no chão; reparo como o acelerador vai bem à frente sem que se produza mais uma única rotação no motor; vai ser uma viagem longa e agitada; reparo nas folhaslanceoladas de relva que crescem abeira da pista; e como a cauda se move tão rapidamente e conseguimos roçar o chão só com as rodas principais! E descolamos. Há um ribombar constante e vento a redemoinhar à minha volta, mas oiço-o tão bem como eles, lá em baixo: um zumbido muito leve que vai aumentando, alto e poderoso, por um rápido segundo, sobre a minha cabeça, para logo a seguir voltar a descer na escada e terminar num minúsculo biplano antigo, serenamente a caminho do céu uma vez que estou a tão poucas milhas do Atlântico, vou voar para leste, em direcção ao oceano. O triunfo será mais autêntico se voar literalmente de uma costa à outra; do mar, como foi o caso, para o mar reluzente.
Estamos no ar e dirigimo-nos para leste no momento em que, atrás de nós, o Sol se transforma numa fria bola de fogo a baixar no horizonte. A luz já desapareceu das vias férreas e as sombras reuniram-se numa só para servir de casaco escuro de protecção ao solo. Aqui, o dia ainda não acabou, mas lá em baixo já começa a ficar noite e o meu novo aeroplano antigo não tem luzes. Mal subi, e já sou obrigado a aterrar.
Cinco minutos depois, lá em baixo e à nossa direita, aparece um campo. Uma pastagem. Com um quarto de milha de extensão e uma única fila de árvores para tornar a aproximação à pista um problema interessante a resolver. Damos três voltas ao campo, o biplano e eu, procurando atentamente localizar sulcos, buracos, cepos de árvores e fossos ocultos. E, neste andar às voltas e examinar minucioso, o quarto de milha de extensão passa, de uma velha pastagem anónima, a ser a minha pastagem, o meu campo, a casa onde vou pernoitar, o meu aeroporto. Há alguns minutos atrás, esta terra não era nada, mas agora é a minha casa. Sei que vou aterrar bem à esquerda, paralelamente ao caminho de terra batida, para evitar esbarrar num monte de cepos de pinho, dispostos como os pauzinhos no «jogo do micado», perto da floresta.
No momento mais breve de todos, oiço uma voz assustada. Que diabo estou eu aqui a fazer, sentado num louco biplano antigo, ao sol-posto, às voltas a uma pastagem com o objectivo de aterrar, quando era uma boa oportunidade para, aqui de cima, divisar sobre a relva escura uma árvore abatida e juntar ao monte de pauzinhos de micado umas duas mil e trezentas libras de matéria inflamada? Um último avanço cauteloso. O campo parece ser pequeno e estar molhado. Mas, pequeno ou grande, molhado ou seco, a arder ou não, estou resolvido a aterrar.
Vou descer a oitenta milhas à hora, assobiando por cima da fila de árvores. Uma breve inclinação lateral sobre a asa para perder o resto da altitude e passo pela mancha de relva e pelo monte de cepos enormes que, há momentos, eram como pauzinhos de micado e, no último segundo, o mundo desaparece à nossa frente com o nariz comprido e largo do meu novo aeroplano. Para nosso bem ou... para... nosso mal. As rodas batem ruidosamente no chão e, imediatamente, géiseres de lodo de alta pressão atingem o aeroplano com os seus jactos, e luto, luto persistentemente para manter de pé o aeroplano, demoramos uma eternidade aparar, já devíamos estar parados e ainda agora começamos a reduzir a velocidade e o lodo continua a rugir nas rodas, sinto a cara molhada e o mundo torna-se-me imperceptível com os salpicos de lodo nos meus óculos, devíamos era parar im... AUBURN! Que é que aconteceu com a cauda? alguma coisa se partiu na cauda, mantém-te firme! Terminamos a nossa aterragem no lodo com um violento sacão para a direita e com uma espessa camada de líquido castanho lançada num décimo de segundo para se transformar numa tempestade sólida de lodo por cima do aeroplano e da relva, num raio de cem pés à volta. Estamos quase a parar, com as nossas rodas altas quatro polegadas abaixo do chão completamente encharcado. Com os interruptores desligados e o motor parado, ficamos perdidos e imóveis, envoltos na manta do mais profundo silêncio. Do campo, chega-nos o chilrear de um pássaro. Mas que aterragem esta! Alguma coisa se partiu, porque o Parks está torcido e de nariz levantado. Estou como nos primeiros tempos de aviação, em que o piloto só podia contar consigo. Se tivesse vivido nessa época, teria sido obrigado a contar inteiramente comigo.
Por momentos, torna-se evidente que nada vai acontecer e que nada vai mexer, a menos que eu determine que aconteça e faça mexer. O biplano e eu vamos ficar aqui sentados, a congelar, encafuados no lodo e na eternidade absoluta, a menos que eu quebre este silêncio e vá tentar descobrir que estragos fiz.
Assim, enquando do lodo ressuma a noite, mexo-me e salto pelo outro lado do cockpit, para sair como um foguete e, a medo, verificar a roda de bequilha. Parece que não está lá muito bem. Só a parte da roda que fica por debaixo da fuselagem é que parece intacta, e tenho a certeza de que o eixo ficou todo torcido e sem conserto.
Mas, metido no lodo e a apontar uma lanterna, descubro que não é tanto assim, só um cordão elástico é que se partiu, dando azo a que a roda se desviasse do seu eixo. Substituído o cordão por um bocado de fio de nylon do depósito de abastecimento do cockpit da frente, a roda volta ao seu sítio, pronta para outros campos a conquistar. Levou, tudo, dez minutos.
Ki Assim era antigamente. Quando surgiam problemas, era o próprio piloto que os resolvia; desde que se dispusesse a resolvê-los, não precisava de ajuda.
Na moderna época da aviação, há sempre uma pista para cada um e vintenas de pessoas a ganharem a vida dando assistência ao piloto. Quando a torre de controlo estiver atenta, vê lá como te comportas, piloto.
Se vivessem hoje, que pensariam esses pilotos que, sozinhos dentro do Parks, faziam voos de exibição (voos de baptismo) e as suas irmãs, pelos prados, e a primitiva aviação? Concordariam, provavelmente, que, nos grandes aeroportos hoje em dia, tudo é maravilhoso. Mas também é provável que abanassem a cabeça em sinal de tristeza e recordassem com saudades aqueles tempos em que eram livres e independentes.
Imito-os agora nesta pastagem coberta de lodo, que se transforma num campo de voos de exibição. Não existe aqui nenhuma torre de controlo, nenhuma pista, nenhuma estação de serviço, nenhum carro-guia que me indique onde devo estacionar. Não há um único vestígio do presente nem um só indício da época na atmosfera. Se estiver interessado em saber o que se passa, basta-me consultar os papéis e os cartões que trago comigo e que fazem referência aos anos de 1936,
1945,1954, e Maio de 1964. Mas também posso queimá-los todos juntos. Queimá-los e esmagar as suas cinzas neste lodo negro e deitar-lhes mais lodo por cima e ficar então completamente só, bem longe do meio do agora.
A escuridão cerca-nos completamente e estendo a capota impermeável do meucockpit no chão, debaixo da asa esquerda, com o saco-cama por cima para não me molhar. Os únicos sons que, em todo o campo, se ouvem, numa extensão de um quarto de milha resguardada de floresta virgem, são o som de estender o saco-cama sobre a capota de lona do cockpit e o som de desembrulhar as sanduíches de frango.
Estendido ao comprido debaixo da asa do meu aeroplano, adormeço, mas acabo por acordar com o frio da noite. Por cima de mim, o céu faz deslocar o seu frio e escuro silêncio na direcção dos seus horizontes secretos. Contemplei o céu horas a fio, fui atrás dele, cruzei, com ele, horizontes, e ainda não estou cansado. Esse céu em constante mutação, esse céu fascinante. A razão disso está, evidentemente, no aeroplano. E ele que torna o céu acessível. Tal como a astronomia sem um telescópio não tem interesse, o mesmo acontece com
o céu sem um aeroplano. Limitamo-nos a observar insistentemente até nos saciarmos, mas, quando temos a possibilidade de participar, de transpor a entrada das nuvens de dia e de viajar de estrela para estrela à noite, então observamos com conhecimento de causa e não precisamos de imaginar a que se assemelharia entrar por essas nuvens e viajar por essas estrelas. Com um aeroplano, aprendemos a conhecer o céu como um velho amigo e a sorrir quando o vemos. Não é preciso espicaçar a memória nem guardar recordações. Basta dar uma vista de olhos pela janela, passear por uma rua movimentada ou isolada, ao meio-dia ou à meia-noite. O céu de agora está sempre aqui, está sempre em movimento; e, ao observá-lo, ficamos a saber uma parte do seu segredo.
Esta noite vou repousar, em parte sob uma lua branca como a farinha e, em parte, debaixo de uma asa de nervuras de madeira, com tirantes e arames para conseguir aguentar por cima dela outra asa de nervuras de madeira. Há anos que não acontece uma coisa destas, repousar aqui e agora. Onde estarão os pilotos dos voos de exibição? Continuam a viver com a mesma lua e com as mesmas estrelas. O seu tempo não morreu, continua a existir à nossa volta.
Estou admirado com o meu novo biplano. Passou muitos calendários recolhido dentro de um hangar silencioso, foi tratado com toda a dedicação e toda a paciência e voou muito raramente. Não apanhou chuva, nem sol, nem vento. Para estar agora no meio do lodo de um campo, numa noite fria, coberto de lama, com pérolas de orvalho nas asas. À sua volta paira, não a atmosfera negra do hangar, mas o céu e as estrelas. Se Evander Britt soubesse onde ele está, ficava arrepiado e virava costas. É o único Detroit-Parks P-24 que ainda voa, é mesmo o único e, portanto, inestimável. E dizes tu que vamos ficar esta noite aqui, na lama?
Não consigo deixar de sorrir. Pois o que realmente penso, sem precisar de usar artifícios, é que ele está mais feliz por estar aqui. Foi concebido para andar pelos campos e pela lama, foi a pensar nos campos, na lama e nas noites passadas sob as estrelas que passou da caneta ao papel de quem o inventou. Foi concebido para passar a vida a apanhar passageiros, para viagens à aventura, nas pastagens e nos cruzamentos, nas feiras distritais de Verão e nos circos expostos ao arco-íris, foi feito para viajar, viajar ininterruptamente, foi feito para voar.
As páginas da caderneta de voo do engenho, agora sepultadas debaixo da caixa das ferramentas amarrada com cordas, são um documento de voo, uma memória em papel pautado.
«DATA: 14 de Maio de 1932, DURAÇÃO DE VOO: 10 minutos. NÚMERO DE PASSAGEIROS: 2. São páginas e páginas de voos de cinco e dez minutos, com tempo apenas para descolar, descrever um círculo à volta do campo a_aterrar. De quando em quando, na coluna das OBSERVAÇÕES: «Total de passageiros transportados até à data - 810. Umas páginas adiante: Total de passageiros -975. Entre estas observações, faz-se uma referência de menor importância ao facto de nem todas as aterragens terem sido suaves. «Hélice removida e endireitada.» «Ponta de asa reparada.» «Roda de bequilha substituída.» Em Setembro de 1939: «Passageiros - 1233», e no registo seguinte: «Engenho preparado para recolher ao depósito.»
Evander Britt tinha dito que se não conseguisse vender o aeroplano tão depressa iria oferecê-lo ao Museu Nacional do Ar como o último engenho daquele tipo e um símbolo da sua época.
Se tivesse de escolher entre soalhos polidos de linóleo e uma vida sem riscos, atrás de um cordame de veludo de cor púrpura, e os riscos, no lodo e ao luar, de hélices torcidas e pontas de asa para preparação, que escolherias tu, aeroplano?
É uma boa pergunta para o piloto, também. Porque, também ele, podia usufruir do conforto e da tranquilidade dos soalhos polidos e dos cordames de veludo. Não tinha necessidade nenhuma de andar a ribombar pelo campo, de se esforçar por resolver problemas de difícil solução, quando podia ficar para sempre tranquilo sentado a uma secretária. Mas, para se ter uma vida calma, tem de se fazer um sacrifício. Tem de se privar de viver a vida. Quando se vive em segurança, não há medos a dominar, obstáculos a ultrapassar ou perigos gritantes à espreita por detrás da barreira dos nossos erros. Se quisermos, todos nós podemos ter cordames de veludo e, na parede, uma só palavra: «Silêncio».
A neblina sobe da terra húmida do campo que, ao luar, é como um campo resplandecente de vidro tecido. Que é que faz lembrar? A que é que se assemelha? Reflicto durante um certo tempo para chegar à conclusão de que não se assemelha a nada que eu conheça. Tenho aprendido muitas coisas com os aeroplanos, mas começo sempre por aprender no ar, quando estou a voar. Assim que pousam no chão, acaba a aula. Mas esta noite, num campo anónimo da Carolina do Norte, com o aeroplano bem sobranceiro a mim, projectando uma silenciosa sombra negra sobre o meu saco-cama, continuo a aprender. Será que nunca mais vou deixar de aprender coisas com os aeroplanos? Como é possível que amanhã haja lugar para outra lição?
O biplano continua sereno e imóvel. Parece muito confiante de que amanhã ainda há lugar para outra lição.
As aventuras começam ao nascer do Sol. Quando o nevoeiro desaparece e o lodo por cima das asas já está seco, o biplano e eu começamos o nosso primeiro dia inteiro na companhia um do outro. O único som que se ouve no campo é o som invulgar dos cilindros 1-3-5-2-4 a rodarem lenta e continuamente, ao mesmo tempo que a pá brilhante (da hélice) gira em torno deles, vacilante.
Caminho pela parte da frente do aeroplano para remover ramos partidos de árvores e uma ou outra pedra e assinalar os buracos mais perigosos. Esta primeira fase da descolagem, a que antecede a passagem do peso das rodas para as asas, é uma fase difícil.
O som dos cilindros 1-3-5-2-4 vai enfraquecendo à medida que me afasto, assemelhando-se ao som suave de uma máquina de costura, tranquilamente a costurar para si própria. Se alguém quisesse levá-lo, bastava-lhe correr para o biplano, empurrar o acelerador para a frente e desaparecer.
Sei que o campo está deserto, mas, apesar disso, estou contente por ter voltado e ficar a trabalhar mais perto do biplano.
Com o saco-cama bem comprimido dentro do seu cilindro felpudo e com uma correia no cockpit da frente, com a ventania do leque (da hélice) a zunir uma vez mais para criar uma atmosfera familiar, preparamo-nos para dizer adeus a um campo que foi nosso amigo e protector.
Em pensamento, a bandeira axadrezada baixa, e oiço uma palavra: Partir. Encontro-me no centro de um hemisfério rugidor de 1-3-5-2-4 cilindros em rotação contínua, 1750 vezes por minuto, começando por mover-se lentamente, sobre rodas pesadas que trepidam e depois mais rapidamente, saltando de uma elevação de terreno maior para outra mais pequena, a chapinhar no lodo e a enlamear-me todo para depois, energicamente, o borrifar e sobre ele deslizar, deixando-o arrasado e imobilizado e a lançar uma sombra negra e ameaçadora.
Adeus, campo.
Uma linha férrea aponta para leste como o próprio nariz do Parks. Decidido a voar de uma costa à outra, num gesto de fragilidade humana de quem quer fazer das coisas presentes autênticos, em embrulhos muito bem feitos e com laços coloridos, acabamos por dirigir-nos para leste no nosso percurso para oeste, por causa de um capricho invisível e intocável, um velho biplano bem visível e tocável vai a zunir e a vibrar pelo céu, por cima de uma linha férrea, na tentativa de chegar ao oceano Atlântico.
O Sol ergue-se, à frente, de um mar dourado. Já não preciso das linhas férreas para nada e, em vez dos enfadonhos carris, passo a orientar-me por uma estrela que cega.
No ar há, por vezes, tantos símbolos à minha volta que não sei como consigo ver para voar. Eu próprio me transformo num símbolo, que é como que uma sensação de glória, pois, para mim, as coisas têm tantos significados que posso ir ao dicionário e escolher de entre eles, cuidadosamente, o que melhor se adequar a este dia e a esta hora. E, no entanto, todos eles servem igualmente.
Mas, afinal, quem sou eu neste momento? Pela parte de mim mesmo que, cautelosa e inquietantemente, mantém certa distância em relação aos sinónimos, sou o portador do Certificado de Aviação Comercial 1393604, que me confere autorização para dar instruções e licença para efectuar voos cegos e o controlo dos aeroplanos de motor simples e combinado, no ar como em terra, tão necessário ao cumprimento das missões de voo. Nesse aspecto estou, portanto, a 5.27 milhas da Base de Radiemissão Omnidireccional de Wilmington, a 263 radiais, a 2176 pés de pressão de altitude, a 1118 horas da hora média de Greennwich, a 27 de Abril do 19642 ano da calendário gregoriano, estilo moderno.
Na fuselagem do aeroplano em que voo está escrito Stearman Vermilion, número de Stock Randolph 1918, nas asas e na cauda Champion Yellow, número de stock desconhecido, por certo exaustiva e rigorosamente referenciado algures nos registos cheios de pó esquecidos dentro de uma gaveta num sótão perdido muito acima do horizonte. É um aeroplano definido ao pormenor dos pernos, das juntas e das costuras. Não é apenas um Detroit-Ryan Speedster, modelo Parks P-2A, mas tem também número de série, 101, número de registo N499H, data de construção de Dezembro de 1929 e alvará de Aircraft Type Certificate 276, de Janeiro de 1930.
Divorciados dos significados, ligados apenas aos rótulos, o aeroplano e eu transformarão-nos em máquinas complexas e inacessíveis. Cada perno, cada arame do motor e o próprio aeroplano têm um número de stock, um número de série e um número de inventário. Se raspar o verniz e olhar com uma lupa, lá estão os nossos números gravados e sem sentido. Quando nos rodearmos de significados, surgem conflitos e cambiantes de significados e mais significados, cujos buracos, por não serem em cadeia, não podem ser fechados ao mesmo tempo. Mas, num lugar onde reina a tranquilidade absoluta, estamos garantidos com os números de série. Não há disputas. Nada se move.
Mas eu movo-me e, portanto, devia escolher cuidadosamente um significado que se adaptasse ao equipamento do meu aeroplano e outro que me assentasse bem nos ombros. Já que o dia está resplandecente e promete continuar bem, digamos, biplano, que ele significa alegria. Que tal lhe assenta a palavra? Ora vejamos: a alegria procura o sol e o amanhecer. A alegria acompanha o deleite, precipitando-se em direcção ao lugar em que o oceano é dourado e o ar frio é revigorante. A alegria prova o mesmo ar condensado que me salpica o capacete de couro e os óculos. A alegria deleita-se com a liberdade que só existe e que só conquista longe do céu, onde basta mantermo-nos em movimento para não cairmos. E, ao movimentarmo-nos, já conquistámos a liberdade e, com ela, a alegria, que é preciosa, mesmo no Stearman Vermilion n.91918.
Mexe-te, mexe-te, rapaz. Desta vez é o eu real afalar, embaraçado com o eu dos símbolos, com o eu que detém as rédeas, com o eu solene. Mexe-te, mexe-te. O que nós queremos é conseguir levar esta coisa um ou dois pés para lá do Atlântico, para que possas dizer que conseguiste e avançarmos depois rumo a oeste. Tu sabes bem porquê, motor. É que a coisa pode falhar.
Pergunto-me como é possível que eu esteja tão certo, tão plenamente convencido de que tenho o controlo total.
Não sei, mas a verdade é que, quando voo, sinto isso. Por exemplo, aquelas nuvens além... outros podem passar por elas, mas sou eu quem as empresta ao mundo. As formas que, à luz do Sol, o mar vai tomando, os raios cor de fogo do sol-nascente, a brisa fresca e o ar quente, tudo isso é meu, pois tenho a certeza de que não há no mundo ninguém que os conheça e ame como eu. E essa a origem da minha autoconfiança e do meu poder. Sou o único herdeiro de todas essas coisas, o único que é capaz de erguer um aeroplano no céu e,
como as nuvens que se movem debaixo dele, sentir-se em sua casa.
Olhem para o céu numa manhã em que o Sol nasça por entre as nuvens ou ao anoitecer, quando desaparecer no ocaso. Não vêem milhares de raios de ouro oblíquos? Um esplendor, uma espécie de fogo fundido escondido? É justamente este panorama do meu mundo visto da terra, tão brilhante, tão quente e tão cheio de beleza que as nuvens, incapazes de a abarcarem completamente, derramam para a terra o seu excesso, como se exibissem o seu esplendor e o ouro que lá em cima existe.
Aquele som insignificante de quatro cilindros, ou cinco, ou sete, que se ouve acima das nuvens vem de uma máquina alada imersa em esplendoroso prodígio. Estar lá em cima e voar lado a lado com esta criatura é ter uma visão, porque as asas de um aeroplano ao nascer do Sol são de ouro trabalhado, adquirindo um tom prateado se se lograr ver do ângulo devido, e sobre a capota e o pára-brisas cintilam diamantes. Lá dentro está um piloto a contemplar. Será possível dizer-se alguma coisa? Perante uma coisa destas? Não. Absolutamente nada! Limitamo-nos a partilhar com outro homem, noutro cockpit, um momento de silêncio.
Pois, quando se tem uma visão destas, quando a magnificência transborda de um aeroplano e do homem que o dirige, não há expressão possível. Ficarmo-nos pelo encanto das terras altas, para falar da beleza e da alegria dos subúrbios mundanos da terra, das cidades, dos muros e das sociedades civilizadas é sentirmo-nos estúpidos e deslocados. Nem à pessoa mais amada um piloto consegue falar do prodígio que é o céu.
Quando o Sol já vai alto e o encantamento desaparece, o combustível chega ao fim. A agulha branca está no E1, o pequeno ponteiro de cortiça deixa de mexer e, por cima do indicador de combustível, uma luz vermelha brilha intensamente, avisando que o nível está embaixo. No espaço de tempo de um, cinco ou dez minutos os pneumáticos voltam a cair pesadamente sobre a relva e, ao tocarem o pavimento de uma pista já esquecida, guincham, lançando um fumo azul. Cumprida a missão, termina o voo. Subo mais uma hora. Ocupo, por momentos, o lápis e o diário de bordo...
Mas, apesar de a terra voltar a estender-se por debaixo dos nossos pés e de sermos rodeados pelo silêncio anormal de um mundo sem motores, é preciso encher o depósito de combustível e preencher outra página do diário.
Para um piloto, a coisa mais importante do mundo é voar. Partilhar dela é um presente inestimável. Aí está a principal razão dos actos, por vezes loucos, dos jovens pilotos. Passam debaixo das pontes, rasam os telhados das casas, fazem loopings e voam muito mais perto do solo do que, por segurança, convém. São a principal preocupação das bases militares de instrução de voo, porque esse tipo de actuação reflecte uma falta de disciplina e resulta, ocasionalmente, na perda do instruendo e do aeroplano. No entanto, a sua intenção é dar, partilhar a alegria com aqueles que ama, partilhar com eles um aspecto da verdade. E que, por vezes, os pilotos conseguem ver para trás da cortina, para trás do véu de veludo muito ténue e descobrir a verdade que existe por detrás do homem e a força que existe por detrás do universo.
No tecido brilhante entrelaçam-se quatro biliões de vidas. De vez em quando, um homem distingue um certo esplendor para lá da cortina e continua a tecer nas profundezas da realidade. Nós, que ficamos a vê-lo partir, surpreendemo-nos por alguns momentos, para imediatamente regressarmos às nossas bases, nos nossos próprios fios cruzados, na urdidura e na trama de uma viva ilusão.
Pois, mesmo num aeroplano, encontramos muitas vezes imperfeições. Com o avanço das invenções, com cockpits fechados e instrumentos e navegação aérea, com rádios e, mais recentemente, com a electrónica, os problemas da aviação têm vindo a encontrar a solução cada vez mais dentro do alcance do braço direito do piloto. Está a desviar-se da rota? Um ponteiro mostra-lhe logo o erro e, para o perceber, basta que o piloto olhe para a superfície de vidro a três polegadas de distância. Está preocupado com o tempo que tem de enfrentar? Basta-lhe seleccionar no rádio uma frequência, chamar um meteorologista e pedir o seu conselho técnico. O aeroplano está a reduzir a velocidade no ar e aproxima-se da velocidade mínima de sustentação? No quadro de instrumentos logo uma luz vermelha cintila e um cláxon de aviso retine. Só olhamos para o céu quando temos oportunidade para gozar o panorama, mas, se ele nos aborrecer, passamos bem sem olhar lá para fora desde que descolamos até que aterramos. E com este espírito de voar que os fabricantes de simuladores se regozijam: «E impossível descrever aos nossos instruendos o que é, realmente, voar!» E, de facto, assim é. Aqueles que definem a avaliação como uma série de horas passadas a prestar atenção ao movimento dos manómetros de um quadro de instrumentos não sabem qual é a diferença. Só falta o vento e o calor do Sol. Os desfiladeiros de nuvens e as brancas paredes escarpadas que se elevam firmemente à altura de cada ponta da asa. E o som de gelo da altitude, o mar de luar no seu leito de nevoeiro, as estrelas fixas como o gelo no céu da meia-noite.
Estávamos no biplano, portanto. Será ele o melhor meio de voar? Se o Parks for demasiado devagar, não há cláxons de aviso nem luzes vermelhas cintilantes. Basta a alavanca de direcção estremecer para imediatamente deixar de querer ser controlado, subitamente consciente de que é mais pesado que o ar. E preciso ter cuidado e estar aberto ao estremecimento. Deve olhar-se para o exterior, porque o exterior faz parte do voo, que é a deslocação através do ar e a consciência disso. Sobretudo, a consciência disso.
Navegar é pôr os óculos, olhar para o lado e para baixo, através do vento que se agita. É olhar para a linha férrea: lá está ela. Para o rio que corre ao contrário: lá está ele. Mas o lago... devia haver aqui um lago. Talvez haja ventos de frente...
A verificação do tempo é uma das coisas a fazer constantemente. As nuvens juntam-se e aumentam, baixando sobre as montanhas. Onde a princípio não chovia, aparecem agora colunas oblíquas de chuva. Que fazer, piloto? Que fazer? Pode ser que, para lá das montanhas, as nuvens fiquem mais pequenas ou então que rebentem. Mas, se isto acontecer, são capazes de baixar ao ponto de tocarem o cimo desigual da relva e de a ensopar de água. As montanhas são como caixões verdes para os aeroplanos e para os pilotos que erram os seus cálculos. Atenção às montanhas quando o nevoeiro cinzento e frio estiver mesmo à frente dos vossos olhos.
Tens de decidir, piloto. Aterrar já? Escolher uma pastagem para aterrar suavemente e ficar com a certeza de que a vida vai ser mais longa? Ou avançar no ^scuro? Voar e tomar decisões. E saber que, mais cedo ou mais tarde, um aeroplano acaba sempre por ter de descansar. 3
Viramos para sul, o Parks e eu, para seguir a costa atlântica. A praia é extensa, agreste e deserta e os únicos sons que se ouvem ao atravessá-la são o do vento e o da rebentação das ondas e o grito de uma gaivota e o breve rugido ventoso de um aeroplano que passa. O ar é salgado e o sal salta para as rodas do biplano. Durante umas cem milhas, podemos voar tranquilamente, com as rodas a roçarem a crista das ondas, porque a preocupação que os antigos aviadores tomavam de aterrar sempre em segurança, não fosse o motor parar, podemos nós seguir agora, com a enorme e lisa extensão de areia à nossa direita. Não há, para um piloto, maior segurança do que ter terra plana ao pé. A terra plana assemelha-se à paz de espírito e à serenidade em qualquer situação. Mesmo que o motor falhe, que venha um furacão, as tempestades de relâmpagos e trovoadas, com um campo plano ao pé, o piloto não tem de se preocupar. Dou uma volta para perder altitude, levanto ligeiramente o nariz e tanto o aeroplano como o piloto têm a bênção do tempo que é deles, sem a pressão e a necessidade de terem de estar permanentemente em movimento. Voar sobre campos planos é voar sem pressões e a forma mais calma de voar que o piloto pode conhecer. E agora, estendendo-se de um horizonte para outro, tanto quando consigo perceber, é costa ampla e plana, boa para aterrar, a Carolina do Sul.
Mas, coisa estranha, o biplano não está bem, é como se não lhe agradasse estar aqui. Há nele um pressentimento qualquer, uma sensação de que é preciso ter cuidado, que fez esquecer a própria segurança, de termos à nossa frente esta infindável faixa de costa. Que mal estará a acontecer? A razão disso é pura e simplesmente que nem eu estou habituado a ele, nem ele a mim. Vai demorar o seu tempo, vai demorar algumas horas a sobrevoar esta praia e a gozá-la plenamente.
Uma pequena enseada e um pequeno veleiro navegando ociosamente ao longo dela. Rugimos sobre o seu mastro, fazendo um rápido aceno ao homem que vai ao leme, que nos devolve o cumprimento.
O recorte da terra e da costa é-nos agora familiar. Sei que, à direita, deve estar a aparecer um pântano, e logo à direita aparece um pântano. Como é que sei? Um mapa não nos dá uma familiaridade destas, porque a tinta e as linhas coloridas, a menos que sejam estudadas e imaginadas, não passam de tinta e linhas coloridas. Ao passo que isto, a curva da praia, o pântano, é familiar.
Mas claro! Já aqui tinha estado! Já tinha sobrevoado esta enorme extensão de costa; e a imprevisão e a familiaridade resultam de diferentes pontos de vista. Já tinha sobrevoado esta praia a uma altitude muito maior do que a que o biplano consegue atingir, a uma altitude de oito milhas, e olhado para esta mesma areia, ali em baixo, e percebido com satisfação que a minha velocidade absoluta era de seiscentas milhas por hora. Mas foi um dia e num aeroplano diferente destes. Belos dias, aqueles em que apertávamos os cintos de segurança de aviões de caça de treze toneladas e nos submetíamos ao calor intenso e rodopiante de um motor movido a turbinas. Subíamos em flecha e vínhamos disparados por aí abaixo com a velocidade do som.
Boa vida aquela! Foi triste deixar os caças com a sua rapidez e o seu glorioso esplendor. Mas tive de ceder às circunstâncias, e os laços quebraram-se e a era dos metros Mach e das alças desvaneceu-se atrás de mim.
Mas a terra montanhosa continua a ser a mesma, seja qual for o veículo que a percorra. Com a hélice a turbilhonar e a vibrar outra vez à frente do cockpit, em vez de uma turbina giratória atrás, verifico que a única diferença entre uma e outra é que o meu depósito de combustível dura três vezes mais e, em vez de velocidade, sou o dono do meu próprio tempo e de outro tipo de liberdade.
De repente, na costa sobrevoada por um biplano no mundo actual, surge uma casa. Duas casas. Cinco casas e um molhe de madeira que se estende na direcção do mar. Uma torre de depósito da água e o nome Crescent Beach. Chegámos. E tempo de me reabastecer de combustível e de comer uma sanduíche.
Mas, apesar disso, o mau presságio mantém-se e, com ele, a relutância da madeira e da tela e o estremecimento na alavanca de direcção.
O aeroporto é uma pista única, uma pista pavimentada, perto da torre de depósito da água. O vento sopra do mar e atravessa a pista. Em terminologia oficial, chama-se a isto um vento cruzado. Tenho ouvido histórias acerca dos antigos pilotos. Nunca se deve aterrar comum vento cruzado, diziam eles, contando histórias da época em que fazê-lo era um erro que se pagava caro.
Por momentos, esqueço-me das horas. Em 1964, o aeroporto é seguro, mas eu ainda estou em 1929.
Anda lá, aeroplano, vamos pousar. O Parks mostra-se debilitado e tenso e eu movo o leme de direcção de um lado para o outro para o relaxar. Está a tentar recordar-me as histórias. Os ventos cruzados são para ele como chamas para um cavalo de corrida, e conduzo-o, impelindo-o para o calor e o fogo, unicamente preocupado com o combustível e as sanduíches.
Oitenta milhas por hora e a fazer-me à pista. Com o power para trás, o Parks dirige-se, sem forças, para a pista. Não percebo porque razão está tão cansado.
Poupa aí, amiguinho. Daqui por um minuto estarás a beber um depósito de oitenta octanos vermelhos e frescos.
As rodas tocam suavemente no pavimento a 70 milhas por hora e, com a cauda bem levantada, afrouxamos, com a pista ainda enevoada nas margens. Por fim, a cauda perde a sua velocidade de voo e a roda de bequilha desce e chia em contacto com a superfície pavimentada. E acontece-nos o inevitável. Deslocando-se a trinta,milhas por hora, o biplano, contra a sua vontade e a minha, começa a virar-se contra o vento. Meto, rapidamente, o leme de direcção a fundo, para evitar que ele se volte ao contrário, mas não resulta, e o biplano balança cada vez mais depressa com o vento. Carrego com força na travão do lado oposto... mas não foi a tempo e, ao voltar-se lentamente, um monstro apodera-se do biplano e, com uma súbita chicotada, vira-o ao contrário. Com um enorme guincho de pneus, agarramo-nos ao que podemos, escorregando de lado para a pista. Um guincho, o horizonte à volta completamente imperceptível, um tiro agudo de pistola do trem de aterragem principal da direita, tudo isto em metade de um segundo. Ao mesmo tempo que me sento, impotente, no cockpit e seguro entorpecidamente no leme de direcção oposto, uma roda parte-se e vira-se ao contrário debaixo do aeroplano. Uma ponta de asa quebra-se, de repente, de encontro ao cimento, lançando faíscas, estilhaços e tela velha, que se misturam com o fumo azul de borracha queimada. A arrastar-se e a gritar à minha volta, o biplano é violentamente açoitado pelo seu velho inimigo, o vento cruzado.
Depois fica tudo em silêncio, salvo o motor, que arqueja e morre, assim que lhe corto as ligações.
Seu louco, seu estúpido, seu idiota, sualeviana amostra de piloto, seu imbecil desajeitado. Seuidiota, seulouco, seu completo estúpido. Partiste-o todo! Olha o que fizeste, seu idiota, seu louco! Desço vagarosamente do cockpit. Foi tudo tão rápido, tão repentino, e só destruí o aeroplano, porque não tomei em consideração os conselhos dos antigos. Não se pode confundir 1929 com o tempo actual. São mundos completamente distintos. Seu louco. Debaixo do aeroplano a roda di- duas. Seuidiota. Apontada asa
direita está toda retalhada e a longarma.
Seu parvo, seu estúpido, seu imbecil. Teimei em fazer do tempo actual a época de 1929 e essa teimosia foi suficiente para arrancar os pernos de aço, as guarnições do trem de aterragem principal da direita, para fazer deles meros cilindros de gesso torcidos de uma coisa que teve a sua utilidade. Seu pedaço de terra inútil.
Do motor, muito calado em cima da pista, caem algumas lágrimas de gasolina. O vento cruzado suspira, agora indiferente, não mais interessado.
Os empregados do aeroporto, que ouviram o choque, saem do hangar com um reboque e um cabrestante para levantarem o nariz do biplano e me ajudarem a levá-lo para debaixo de um abrigo. Levam lá para dentro um macaco para substituírem a roda partida e o tirante partido do trem de aterragem.
Vão-se embora e eu fico sozinho com o biplano. Que lição
há a tirar daqui, aeroplano? Que devo eu aprender com isto? Não há resposta alguma. Lá fora, o céu escurece e, mais tarde, começa a chover. Não há mais estragos? E o coronel Georg
- Carr que está ao telefone, e as suas palavras ecoam pelo hangar. - Pela maneira como Evander me falou, fiquei a pensar que você tinha ferido alguma coisa! Não se preocupe, amanhã por volta do meio-dia já pode levantar voo!
George Carr. Um conjunto de letras que significa um rosto de tez crestada sob um farto cabelo grisalho e olhos azuis ardentes, que viram muitos calendários vir e ir e muitos, mesmo muitos, aeroplanos.
Esta manhã não foi fácil ligar para Lumberton.
- Evander, estou em Crescent Beach.
- Espero que esteja bem - respondeu Evander Britt. E como se tem portado o seu novo aeroplano? Ainda gosta dele?
Fiquei reconhecido por ir direito ao assunto.
- Gosto muito dele, Van. Mas não me parece que ele goste igualmente de mim.
- Como assim? - Se o meu telefonema já era sinal de que alguma coisa ia mal, agora tinha a certeza.
- O aeroplano virou-se ao contrário, ao tentar aterrar com vento cruzado. Fiquei sem um carrete, parti uma roda e torci completamente uma asa. Gostava de saber se por acaso tem por aí um carrete e uma roda sobressalente. - Pronto. Consegui dizer-lhe. Diga ele agora o que disser, tem toda a razão. Mereço ouvir dele o pior que tiver para me dizer. Cerrei os dentes.
- Oh!... não... naquele instante, houve um silêncio total na linha, quando ele percebeu que tinha dado o aeroplano à pessoa errada, a um inexperiente impetuoso e pretensioso que nem sequer tinha começado a aprender a comandar um aeroplano, quanto mais a pilotá-lo. Não me agradou nada aquele silêncio.
- Ora bem. - Foi brusco, mas a seguir novamente simpático, solícito, a tentar resolver os meus problemas.-Realmente tenho um trem de aterragem em bom estado que posso ceder-lhe. E um conjunto de asas, se precisar. Partiu a roda, não foi?
- Foi a roda direita. Parece que posso aproveitar o pneu, mas a roda não tem hipótese nenhuma.
- Não tenho rodas. Pode ser que o Gordon Sherman, que está em Asheville, possa emprestar-me uma, para conseguir chegar ao seu destino. Vou telefonar-lhe imediatamente e, se ele tiver, vou lá buscá-la... Se ele não tiver nenhuma é que não sei como vamos fazer. Aquelas rodas enormes são mais difíceis de encontrar que dentes de galinha. Assim que desligar, telefono a George Carr. Foi ele que tratou da mecânica do Parks e de o pôr em seu nome. Logo, é a pessoa indicada para pôr o Parks em ordem. Se ele aí for, meto-lhe no carro o trem de aterragem e a roda. Não me importava de ir eu mesmo, se amanhã não tivesse um julgamento a que não posso faltar. Tem o aeroplano dentro de um hangar, não tem?
- Tenho.
- Ainda bem, porque cá em cima está a choviscar e as nuvens começam a deslocar-se nesse sentido. Não gostaria que ele ficasse exposto à chuva. - Fez uma pausa. - Se quiser voltar a ficar com o Fairchild, ele está à sua disposição.
_ Obrigado, Van, mas ainda agora adquiri este. O que tenho de fazer é aprender a pilotá-lo.
Três horas depois, estava George a chegar, com o limpa-pára-brisas a ranger no vidro gasto.
- Por que é que não tira primeiro a tela à volta do aileron de modo a ser mais fácil chegar lá? E se arrancasse essa almofada aí, por baixo da asa, mais fácil se tornava.
O coronel trabalha com entusiasmo, porque gosta de aeroplanos. Gosta de os ver a reanimar por debaixo das suas mãos. Está a bater com um malho de couro cru numa consola torcida, para a endireitar. O pumpum faz eco.
-... costumava sair com o meu velho Kreider-Reisner 31 aos domingos e aterrar nos cruzamentos. A maioria das pessoas nunca viram um aeroplano tão perto, a menos que já tivessem entrado num. - «Puni. Pumpumpum.» -E verdade, durante algum tempo tive uma vida muito boa. - «Pumpumpum».
Enquanto trabalhamos, vai falando de um mundo que só agora começo a conhecer. Um mundo em que o piloto tem de estar sempre preparado para consertar o seu aeroplano, sob pena de ele nunca mais voltar a voar. Sem nostalgia ou saudade, exalta o passado como se realmente o não fosse, como se, logo que voltasse a colocar a roda no biplano, puséssemos o motor a funcionar e voássemos em direcção a um cruzamento ou uma pastagem próximos da cidade, para levarmos as pessoas que nunca viram um aeroplano tão de perto, a menos que já tivessem entrado num, a voar.
-Até parece que foi o malho que fez tudo. -Depois de malhado, o aileron fica direito e liso como o pavimento de um hangar. - Está mais resistente do que antes. Trabalhado a frio, sabe como é.
Apesar de tudo, acho que não nasci demasiado tarde. Talvez não seja demasiado tarde para aprender. Fui criado num mundo de aeroplanos, com as estrelas brancas das forças armadas pintadas nas asas e o nome U. S. AIR FORCE gravado debaixo dos porta-metralhadoras. Num mundo de aeroplanos reparados por especialistas, de acordo com o T. 0.1-F 84 F-2, num mundo de processos de voo prescritos pelo regulamento da Força Aérea 60-16, num mundo de conduta regulamentada pelo Código Universal de Justiça Militar. Com tudo isto, não há um único regulamento que autorize um piloto a reparar o seu próprio aeroplano, porque é uma tarefa que requer um corpo especial de técnicos, com uma série especial de números de identificação e de especialização. Os aeroplanos e partes dos aeroplanos ao serviço das forças armadas raramente são reparados, são, antes, substituídos. O rádio falha durante o voo? Acção correctiva: tirá-lo e substituí-lo por outro. O motor aquece demasiado? É removê-lo e substituí-lo. O carrete do trem de aterragem partiu-se depois da aterragem? Classe 26: engenho fora de serviço.
E está George Carr, piloto de voos de exibição, mecânico, com um malho de couro cru na mão, a dizer que ficou tudo mais forte do que antes. Fico a saber que a reparação, ou a reconstrução, de um aeroplano, como a de um homem, não depende da estrutura original, mas sim da atitude com que se leva a cabo cada uma dessas tarefas. A frase mágica «Não há mais estragos!», numa atitude de desafio, e a verdadeira tarefa de reconstrução chegou ao fim.
- Gordon Sherman empresta-lhe uma roda do Eaglerock para chegar ao destino.-VanderBritt meteu-a na bagageira do carro. Vai à procura de um perno resistente para o tremde aterragem. –Podia levar... a roda... à estação de serviço e ver se podem colocar-lhe o pneu.
E tão simples como isso. Gordon Sherman empresta-lhe uma roda. Uma roda de alumínio, muito rara, de 30x5, que hoje em dia já não se fabrica, que durante trinta anos não se fabricou e que não volta a ser fabricada. Emprestada por um amigo que nunca conheci. Provavelmente, Gordon Sherman perguntou a si mesmo como se sentiria num outro continente, longe de casa, se precisasse de uma roda antiga e rara para o seuEaglerock, sem saber onde encontrá-la. Provavelmente, tem rodas a mais. Até é possível que a sua arrecadação esteja cheia de rodas de alumínio de 30x5. Mas, neste momento, Gordon Sherman recebe em silêncio os agradecimentos de um amigo que nunca conheceu e que, em silêncio, lhe ficará reconhecido para toda a vida.
O coronel George Carr continua a trabalhar debaixo das luzes verdes fluorescentes do hangar de Crescent Beach, Carolina do Sul. Trabalha, orienta, e eu aprendo com ele até à
01.30 da madrugada. À 01.30 já o biplano está reparado e pronto para voar.
- Amanhã podia levá-lo para a Carolina do Norte - diz, arreganhando os dentes, sem se lembrar de que à 01.30 da madrugada as pessoas já estão completamente estafadas e a cair de sono. -E vamos dar-lhe os últimos retoques. Há tela e lubrificante aí na oficina. Vou pô-lo a lubrificar.
E vai-se embora. Leva a caixa das ferramentas, pesada que nem um pedregulho, a chocalhar, para o carro, coloca ao lado a roda partida, e com um aceno de mão desaparece no meio da escuridão, de regresso a Lumberton. É um professor de confiança que vai a sair para o que, antes de se saber exactamente o que é, se chama de passado. Quando chegar a casa já eu estou a dormir no chão do hangar, depois de ter passado meia hora a ouvir a chuva e a pensar que já só tenho duas mil e seiscentas milhas à minha frente.
De manhã, o biplano consertado com tela amarela, presa aqui e acolá com elástico vermelho-brilhante, levanta voo de Crescent Beach, seguindo um rio, uma estrada nacional, uma linha férrea, para chegar uma vez mais a Lumberton, Carolina do Norte.
- Bom, não se preocupe mais com isso. São coisas que acontecem. Agora venha cá. Arregace as mangas e vamos ajudar George a pô-lo como novo.
Estou a aprender a reparar aeroplanos de madeira e tela. O coronel mostra-me como se deve cortar um remendo de tela de Classe A, puir-lhe as bordas e aplaná-lo sobre a asa com lubrificante transparente, deixá-lo secar e espalhar areia em cima. Mais uma camada de lubrificante transparente e outra camada de areia. Depois deita lubrificante de cor e areia, dispondo-os em várias camadas até eu não conseguir distinguir o remendo do resto da tela. No fim de tantos emplastros, terminado, finalmente, o trabalho, com o biplano como novo, passou-se a manhã e é tempo de voltar o nariz para oeste e partir.
- Quanto lhe devo, George? - E um momento difícil, quando chega a altura de pôr o negócio à frente do saber e da amizade que advêm de se trabalhar em equipa num aeroplano.
- Oh, não faço a mínima ideia. Na verdade, não fiz nada de especial. Foi você quem mais trabalhou. - Remexe numa caixa de ferramentas, à procura do tabaco de cachimbo.
- Nem pensar! Se não fosse você, este aeroplano estava agora parado dentro do hangar em Cescent Beach, à espera de que o homem do ferro-velho o levasse. Quanto lhe devo?
Há uma semana, em Wichita, a roda de bequilha do Fairchild teve de ser substituída. A operação, levada a cabo por mecânicos especializados, demorou quatro horas. O custo foi de 90.75 dólares, com peças, mão-de-obra e taxas incluídos. Quanto não custaria então substituir as juntas do aileron, que ficaram completamente desfeitas, e pôr corda nova num carrete principal, colocar uma roda nova, reparar uma ponta de asa, as nervuras e a longarina e forrar tudo de tela, com peças, mão-de-obra e taxa incluídos?
George Carr fica nervoso e embaraçado e, durante vinte minutos certos, chamo a sua atenção para o facto de que nãoé com palavras de agradecimento que vai pagar hoje o jantar ou comprar o lubrificante e a tela que eu lhe gastei ou recuperar as horas de sono que perdeu ou a gasolina que gastou para ir a Crescent Beach.
- Faça você um cálculo - responde. - Qualquer que ele seja, para mim está óptimo.
- Quinhentos dólares são o que eu teria de pagar, admitindo ter conseguido encontrar alguém que até soubesse onde fica a longarina de um biplano.
- Não seja idiota.
- Não estou a ser idiota. Quais eram as taxas em vigor da última vez que teve de mandar arranjar um aeroplano, George? Você é o melhor mecânico do mundo, mas, em contra partida, é o pior negociante que alguma vez conheci. Agora oiça-me. Tenho de me pôr a andar antes que o sol desapareça. E não vou partir sem antes lhe deixar algum dinheiro. Amanhã de manhã seria incapaz de olhar para mim próprio se me tivesse ido embora daqui sem lhe pagar. Honestamente.
Lamento muito.
Da extremidade da sala chega-me uma voz débil, reservada.
- Trinta, quarenta dólares, é muito?
Tento convencê-lo por alguns momentos a aceitar os cinquenta dólares, com o que fico ainda com dinheiro suficiente para chegar ao fim do percurso, mas, mesmo assim, não deixo de me sentir como um jovem e cruel suserano a tirar partido da gente simples e solícita que habita à sua volta. E sinto ao mesmo tempo, sem saber o que fazer, que estou a cometer um sacrilégio. Tudo por causa de George Carr e porque gosto dos mesmos engenhos e tenho os mesmos prazeres que ele tem. Não posso deixar de acreditar que, no curto espaço de tempo em que trabalhámos juntos no biplano, ficámos amigos um do outro. Que tipo de pessoa é essa que, em troca de um gesto de amizade, oferece ao amigo uma tuta e meia?
Em contrapartida, os outros, que não eram meus amigos, aqueles mecânicos especializados que repararam a roda de bequilha, cobraram bem pelo trabalho. Não está certo.
Ô acelerador pega à primeira e o biplano levanta rapidamente contra o vento. Um último oscilar da asa ao sobrevoarmos o hangar, duas minúsculas figuras sobre a relva a acenarem e voltamos a apontar o nariz para o sol, passando velozmente por debaixo do seu enorme arco, rumo a uma certa colisão com um horizonte imóvel.
Quantos choques já tiveste, Sol? Quantas vezes já caíste do calor branco bem focado, pelo mesmo arco refrescante, para te despenhares no mesmo vale em que esta noite vais cair? E, pelo mundo fora, há em cada momento um nascer do Sol e o começar de um novo dia.
O Sol desloca-se mais um décimo de grau em direcção ao horizonte e, enquanto voo, o vale que o devia ter acolhido transforma-se num pequeno lago, todo dourado, no espelho de um céu dourado. Então move-se também uma floresta de árvores para cobiçar o último lugar de repouso do Sol. Se pudesse ficar parado no ar, seria levado a acreditar que o sol mergulha de facto naquele vale, naquele lago, naquela floresta. Mas o biplano afasta ilusões antigas tão depressa e determinadamente quanto cria novas ilusões.
A que está a tentar criar agora é a de que o motor vai ficar a funcionar eternamente. Ora oiçam lá: 1-3-5-2-4, vezes e vezes sem conta. Se não vacilar agora, nunca mais vacilará. Sou forte e poderoso e vou fazer girar a minha encantadora hélice até que o próprio Sol se canse de nascer e de se pôr.
Lá em baixo começa a escurecer, e a superfície da terra é como um poço de sombra lisa. Uma vez mais, o biplano lembra-me de que não tem luzes para voar ou para aterrar. E mesmo a lanterna está fora do meu alcance, no cockpit da frente.
A vida podia ser maravilhosa. Devia passar-se o dia a sonhar e a acordar envolto no manto da noite. Procura um lugar para aterrar ou vais ter mais reparações a fazer. A1740 rpm, cinquenta e dois galões de gasolina vão dar para cinco horas e seis minutos. O que significa que, neste momento, o meu valente motor ainda tem combustível para três horas e vinte e um minutos. O meu companheiro de cinco cilindros e a sua fiel pá cintilante vão deixar de girar precisamente no momento em que o Sol se põe em São Francisco e nasce em Jacarta. Provavelmente, nessa altura faremos vinte e cinco minutos de voo planado e depois é o fim do mundo. Porque o céu é o único mundo, literalmente o único que existe para um aeroplano e para o homem que o comanda. O outro mundo, com as suas flores, os seus mares, as suas montanhas e os seus desertos é, para o aeroplano e para o homem do céu, uma passagem para a morte, a menos que regressem muito suavemente, muito cautelosamente e vejam bem onde tocam.
E melhor aterrar enquanto ainda vejo alguma coisa. Então vejamos. Daquele lado, ali em baixo, com vento forte, temos algumas pastagens sombrias, uma enigmática floresta de pinheiros negros, uma pequena cidade. E, olha ali, é um aeroporto. A luz do farol fica verde... branca.... verde... e na escuridão uma pequena fila dupla de pontas brancas, vamos descer e dormir esta noite em contacto com a terra.
Amanhã será um grande dia. A dia, volta a haver sol e, na asa que me abriga, bate um vento fresco e ameno. É um vento fresco e moderado o que sopra da floresta, que parece oxigénio puro. Mas está-se bem no saco-cama e há que aproveitar para dormir mais um bocadinho. E a dormir sonho com a primeira manhã em que voei num aeroplano...
É dia, há sol e sopra um vento fresco, mas ameno, que se move devagar, muito devagarinho, e silenciosamente, à volta do corpo de metal leve de um pequeno aeroplano que, com toda a serenidade, aguarda sobre a relva verde-esmeralda.
Na devida altura, hei-de aprender o que é o vento relativo, a força da inércia e a densidade térmica à velocidade Mach Três. Mas, como ainda não sei, para mim o vento é só vento, fresco e ameno. Estou à espera do aeroplano, à espera do amigo que há-de ensinar-me a voar.
Em consonância com o sussurrar do vento madrugador, paira na ar o marulhar distante de concha do mar do despertar de uma pequena cidade. Muito perdes tu das palavras que se esboçam no pensamento efémero como o fumo, ó citadino! Continua a dormir na tua concha de cimento até que o Sol já vá alto e te seja confiscada a madrugada. Não gozes a brisa, nem o murmúrio de concha do mar, nem o tapete de relva alta e molhada, nem o doce silêncio do vento da madrugada. Não vejas o aeroplano que espera ao frio nem oiças o som dos passos de um homem que podia ensinar-te a voar.
- Bom dia!
- Olá!
- Vamos então desamarrá-lo? - Não precisa de falar muito alto para eu conseguir ouvi-lo. O vento da madrugada não é inimigo da voz humana.
A corda a que está amarrado está húmida e tem puas e, ao puxá-la pelo aro de metal, levantado, do tirante, produz um som vibratório que ecoa pela manhã. E um som simbólico este, de libertar do chão um aeroplano.
- Esta manhã, vamos com calma. Tem de relaxar para sentir o aeroplano; leve-o direito e horizontal, dê umas voltas com ele, estude mais ou menos a área...
Estamos sentados no cockpit e aprendendo a apertar o cinto de segurança sobre o meu regaço; no quadro de instrumentos, há um número desconcertante de mostradores; o silêncio do mundo exterior fica vedado a uma cabina com portas metálicas ajustadas a uma entidade com asas igualmente de metal, com pneus de borracha e umas letras gravadas nos pedais do leme da direcção. Luscombe é a palavra que as letras formam. A palavra já está muito gasta e é uma palavra neutra, mas nela estão gravados a atracção e o entusiasmo. Luscombe. Um tipo de aeroplano. Saboreiem só esta palavra estranha e ao mesmo tempo excitante. Luscombe.
O homem que está ao meu lado tem estado a mexer nos interruptores do desconcertante quadro. Não se mostra embaraçado,
- Clear.
Não faço ideia nenhuma do que é que ele quer dizer com esta palavra. «Clear.» Por que razão havia ele de dizer clear? Puxa um botão, que selecciona de entre muitos outros botões parecidos. E lá se vai o silêncio da minha madrugada.
O ruído áspero de metal a raspar em metal e de carrete a engrenar em carrete e o triturar forçado de um pequeno motor eléctrico fazendo girar um grande volume de metal do motor e de aço da hélice. O som de arranque do motor de um aeroplano é diferente do som de arranque do motor de um automóvel. Depois, como se tivesse premido um interruptor invisível, o motor começa a trabalhar, quebrando o silêncio com as suas múltiplas explosões de gasolina e com consequente combustão. Como é possível raciocinar no meio desta barulheira infernal? Como é possível que ele saiba o que tem a fazer a seguir? Durante uns segundos, a hélice transforma-se numa mancha, num disco que tremeluz ao sol da manhã. Um disco místico, cintilante, que faz ondular uma luz prematura e nos convida a seguir viagem, que nos conduz, com os pneus a rodarem, por um extenso caminho de relva, em frente do qual, no fim de um amplo e plano espaço aberto, se encontram, estacionados e amarrados, mortos e em repouso, outros aeroplanos
Segura nos travões e empurra uma alavanca, que torna o ruído ainda mais insuportável. Que se passa com o aeroplano? Será que esta coisa é capaz de voar? Estamos amarrados aos nossos lugares, comprimidos nesta pequena cabina e somos assaltados por uma centena de decibéis. Talvez fosse melhor não partir. Luscombe é uma palavra estranha, que significa «aeroplano pequeno». Pequeno, ruidoso e feito de metal. Será que o sonho de voar tem a ver com isto?
O barulho pára por momentos. Ele inclina-se para mim e eu para ele, para conseguir ouvir o que diz.
- Parece que está operacional. Está preparado para arrancar? - Evidentemente que estou. Faço que sim com a cabeça. Até já podíamos tê-lo feito. Responde que já era tempo, no tom invulgarmente baixo que lhe é peculiar e que desmete o seu sorriso, sempre que as palavras que profere querem dizer exactamente aquilo. Foi pela razão que ele deu ao facto de eu ter vindo, que, às cinco da manhã, deixei uma cama confortável para caminhar pela relva molhada e ao vento frio. Ponha-se a mexer e não me incomode mais com o seu percurso. »”»
A alavanca novamente para a frente, o barulho volta a ser insuportável, mas, desta vez, os travões estão soltos e o pequeno aeroplano, o Luscombe, move-se,baloiçando deumlado para o outro e arrastando-se em direcção ao fundo do espaço aberto. . E para o céu.
Foi exactamente o que aconteceu, íamos a deslizar sobre as rodas, seguindo o movimento giratório mágico da pá (da hélice) cintilante e, de repente, deixámos de rodar.
Já tinha visto um milhão de aeroplanos a voar. Um milhão de aeroplanos. E nunca isso me impressionou. Mas agora quem ia a voar era eu e o chão era aquela verdura a desaparecer por debaixo das rodas. Seria o ar a separar-me da relva verde e do solo firme? O ar. Esse ar rarefeito, invisível, que sopra e que nós respiramos. O ar é coisa nenhuma. E entre nós e o solo há mil pés de nada. O ruído? Um leve zumbido. Aí está! O Sol! Os telhados das casas a reluzirem e o fumo a subir pelas chaminés!
O metal? Maravilhoso metal.
Olha! Ali está o horizonte!Consigo ver para além do horizonte! Consigo ver até ao fim do mundo! Estamos a voar! Por Deus, nós voamos! O meu amigo sorri enquanto me observa. -
O vento agita a ponta do meu saco-cama e o Sol já vai acima da linha do horizonte. São 06.15 horas, é tempo de me levantar e começar a mexer-me. O vento não é só fresco, mas
frio. Frio! E eu a pensar que no Sul a Primavera era uma estação lânguida, de calor líquido, madrugada após madrugada. Estou metido no fato de voo enregelado, tenho as botas congeladas e o glacial casaco de couro vestido. O aeroporto é plano e fechado à minha volta e as luzes da pista ainda estão acesas. Sendo assim, tomo o pequeno-almoço só na próxima paragem e por agora vou ligar o motor e pô-lo a aquecer. Quando os motores são velhos, é sempre conveniente deixá-los aquecer bem antes de partir. Devem ficar a funcionar durante dez minutos para aquecer o óleo e dar vida aos órgãos de comando.
Apesar do frio, o tempo de pôr o motor em marcha é um belo momento do dia. E a rotina: fazer girar a hélice cinco vezes, ligar a válvula do combustível, obter uma mistura rica, descarregar sete vezes a seringa injectora de combustível, fazer girar a hélice mais duas vezes, ligar o interruptor do magneto, dar à bomba no acelerador, dar à manivela no motor de arranque por inércia, correr para o cockpit, engatar o motor de arranque e aguentar com o ensurdecedor ribombar do escape e do motor, que volta a quebrar o silêncio do pequeno aeroplano.
Quantas vezes não pus eu a funcionar o motor de um aeroplano, apesar dos poucos anos de experiência que tenho? E em quantos aeroplanos? Tantos modos de funcionamento, tantos sons diferentes, mas debaixo de todos eles o mesmo rio; são símbolos vários de um mesmo significado. É fácil.
Puxa-se o botão de arranque para pôr a hélice a vacilar em arco. Carrega-se no botão da seringa injectora de combustível. E do escape liberta-se uma nuvem de fumo azul e uma tempestade de som. Se analisarmos ao microscópio a nuvem de fumo azul, encontraremos minúsculas partículas de óleo que não foi queimado. Se analisarmos o som no osciloscópio, aparecerá no gráfico de referência uma infinidade de linhas quebradas de altura variável. Não há instrumento nenhum o momento em oras e um fulgor vivo no céu. Como se o comandante desenhasse rapidamente com o dedo um círculo no céu.
- Pilotos, pôr os motores em marcha.
- Engatar.
- Partir.
As grandes hélices maciças e negras começam a girar de repente. A força exterior dos cavalos vacila e quase morre, pressionada por uma súbita alta amperagem. Dá-se a explosão das descargas dos dispositivos da arranque. O ar neles comprimido sibila e faz o chão tremer. As rodas de inércia, movidas pela acção de uma manivela, batem e gemem com o esforço que fazem para se moverem. Ouve-se o estalido e as batidas do impulsionar dos magnetos. O ar exterior ruge ao entrar nas turbinas de ar dos preparadores de arranque e, gradualmente, as pás turbopropulsoras de extremidade quadrada entram em aceleração.
Assim se passa da imobilidade ao movimento, da morte à vida, do silêncio ao ribombar crescente. Cada uma das fases pelas quais se passa de um estado ao outro representa, para qualquer homem dentro de qualquer cockpit, uma pequena parcela da sua viagem.
Há som e glória, fumo azul e um ribombar de trovão para quem quer que os deseje. Os descendentes dos pioneiros não têm de lamentar a travessia de fronteiras impalpáveis, porque logo acima das suas cabeças há uma, tranquilamente à espera. Pouca ou nenhuma diferença faz o aspecto da máquina que depressa se torna parte integrante do pioneiro. Pode estar em cumprimento de uma missão de voo, de uma missão militar sancionada pelo presidente da República, levando quarenta mil libras de impulso ao dobro da velocidade do som, protegido dentro do cockpit por um vidro de uma polegada de espessura e por uma atmosfera artificial, que as restrições militares não lhe tiram o gosto da liberdade nem o espectáculo do céu. Mas também pode estar simplesmente às ordens do próprio desejo e da própria consciência, dentro do aeroplano que comprou em lugar de outro automóvel, deslocando-se a cem milhas à hora, abrigado do vento por fíbra de vidro com um oitavo de polegada de espessura ou por um capacete de couro e um par de óculos.
Este mesmo percurso foi feito dezenas de milhares de vezes por Montgolfier, Montgomery e Wright, que o descobriram, por Lincoln Beachy, Glenn Curtiss, Earle Ovington e Jack Knight, que o desbravaram e limparam, por todos os homens que, pilotando um aeroplano bem longe da terra ou satisfazendo por uma hora o sonho de voar, o aplanaram, pavimentaram e prolongaram. No entanto, apesar dos biliões de horas que os homens passaram no ar, nem um só deixou rasto no céu. Pelo céu plano arrastamos uma pequena esteira de ar ondulante. Quando o aeroplano se afasta, o céu volta a ficar liso, ocultando cuidadosamente todo e qualquer vestígio da nossa passagem para se tornar no deserto tranquilo que sempre foi.
Chegou a altura de chamar o clear! ee de engatar o motor de arranque. Respirar o fumo azul e preparar as rodas para deslizar. Verificar a pressão e a temperatura do óleo, regular a válvula do combustível e preparar flaps para, a descolagem. Fazer o conta-rotações da hélice oscilar ao nível da linha vermelha, mergulhar num mar de ruído e de glória e deslizar ao longo da pista, iniciando a viagem da solidão.
A tarefa que temos para hoje é atravessar o país a passos de gigante, avançar o mais possível em direcção ao oeste, antes que o Sol volte a ganhar a corrida.
fiz Uma rápida aceleração do motor, para sentir a segurança de o ter a funcionar como deve ser a uma distância ainda bem longa de casa.
Levo o acelerador à frente, levanta-se uma nuvem de pó e estamos de novo no ar. Ao entrarmos na velocidade de cruzeiro, as árvores da Primavera, como fontes a derramar verdura, deslizam por debaixo de nós, partilhando da alegria de outros engenhos e de outras pessoas que só se sentem felizes quando as vêem mexer.
A mão na alavanca de direcção para testar os lemes de profundidade e de direcção, os dedos no interruptor dos magnetos, a voz «Contact!», cada gesto uma parte daquele que procura horizontes perdidos há mil anos. «Desta vez, pensa. «Pode ser que seja desta.» A busca, sempre a busca. Numa viagem de rotina por terras diariamente atravessadas no Flight 388 e do deck povoado de um avião a jacto e do cockpit de um aeroplano de desporto, os olhos de um homem errante dirigem-se para baixo, à procura do que está escondido; o Eliseu ignorado e o alegre vale por descobrir. A cada passo, no seu cockpit, o homem errante fica subitamente hirto, aponta para baixo, para o co-piloto olhar, faz uma inclinação lateral da asa para verem melhor. Mas a relva nunca é suficientemente verde; é como o joio à beira da água, como uma faixa de solo estéril entre o prado e o rio. Ocasionalmente, há um momento de perfeição: a nuvem, firme e brilhante, num céu igualmente firme e brilhante. O vento, as nuvens, o céu, esses denominadores comuns da perfeição, essas coisas eternas. Podemos transformar o solo: arrancar a relva, aplanar o monte, derramar sobre ele uma cidade. Mas como é possível arrancar o vento? Enterrar uma nuvem no cimento? Reduzir o céu à imagem que dele tem o espírito humano? Absolutamente impossível.
Vamos à procura de um objectivo e acabamos por encontrar outro. Procuramos o que é visível, mantendo a memória civilizada do que foi a perfeição e, nas dezenas e centenas e milhares de horas em que derivamos pelo céu, acabamos por descobrir uma perfeição completamente diferente. Viajamos rumo ao país da alegria e na nossa busca encontramos o caminho que outros, os primeiros pilotos, exploraram antes de nós. Falavam da solidão nas alturas, e encontramo-la. Falavam de tempestades, e ali estão elas à espera, ameaçadoras. Falavam do Sol bem acima do horizonte, do céu escuro e de estrelas mais claras do que alguma vez se viu da Terra, e lá
continuam todos.
Se pudesse conversar agora com um piloto de voos de exibição ou ler o que ele deixou escrito nas páginas amarelecidas de 1929, por certo ficaria a saber como é a viagem para o Sul, na rota de Columbia, Carolina do Norte, para Augusta, Jórgia. A coisa mais fácil do mundo é seguir uma linha férrea, mas, a partir de Columbia, as curvas e o emaranhado das vias férreas são de tal ordem que é preciso ter bons olhos para perceber quais são as que levam a Augusta e as que levam a Chattahoochee, a Mirabel ou a Oak Hollow. Basta enganarmo-nos na linha, diria ele, para nos vermos no meio de coisa nenhuma e ficarmos sem a menor ideia de como voltar para trás.
De facto, é verdade. Olhem só para a confusão de linhas férreas ali em baixo! Pode ser que haja aqui à volta uma ou duas moléculas de ar que façam lembrar o cintilar da sua hélice, que se ria de mim à sucapa por, tanto tempo volvido, me ver confrontado com o mesmo problema que, antes de mim, o preocupou. Temos ambos de encontrar uma saída para este labirinto, temos de encontrá-la por nós próprios. Não sei o que ele fez para isso, eu cá olho em frente para ver se descubro pelo caminho a ponta de flecha de um lago e me dirijo para lá para, em seguida, encontrar a linha férrea, se houver claramente uma só escolha a fazer. E provável que ele tivesse uma via melhor para lá chegar. Quem me dera que ele ainda andasse por aí; era bom que, ao olhar lá para fora, desse com o seu Jenny ou o seu J- Standard a deslizar acima dos carris gémeos. Mas esta manhã continuo só, pelo menos tanto quanto os meus olhos vêem. A história, a tradição e as velhas moléculas andam à minha volta em cada segundo que passa. Os pilotos de voos de exibição costumavam dizer que o céu era frio e que gelavam dentro dos cockpits. Hoje sei que conseguiam manter-se confortavelmente durante algum tempo, pela simples razão de que não acreditavam ser possível haver tanto frio no sul, onde, apesar de tudo, as pessoas costumavam refugiar-se para fugirem aos Invernos setentrionais. Mas percebo afinal que não há luta possível a travar. Na Carolina do Sul, na manhã de um dia de Primavera, está um frio de rachar, está autêntico gelo. Dava-me vontade de rir quando ouvia dizer que os primeiros pilotos costumavam amontoar-se na parte da frente do aeroplano para se abrigarem o mais possível junto do pára-brisas e arrastavam os pés para trás e para diante, em movimentos excêntricos, pelo simples prazer de se mexerem e afastarem, assim, o frio.
Agora já não me rio. Tento, em vez disso, descobrir por mim próprio uma técnica para conseguir sobrevoar a Carolina do Sul. Não sou assim tão convencido que acredite que esta técnica não foi descoberta anteriormente e utilizada dezenas de vezes, na mesma atmosfera, pelos primeiros pilotos. Com a pressão que o eixo da hélice exerce, do centro do quadro de instrumentos projecta-se uma enorme manivela imaginária. Dou à manivela cada vez mais depressa com a mão direita enluvada, inverto o movimento e faço-a rodar ainda mais depressa com a mão esquerda. Desde que dê à manivela o tempo necessário e à velocidade necessária, é o suficiente para não tolher nem empalidecer de frio. E ficarei de tal forma cansado que mal conseguirei arranjar forças para sentir o gelo que está ou verificar que direcção leva o vento.
Na Carolina do Sul, o Sol está regulado para começar a aquecer a atmosfera justamente no último segundo antes de o piloto, completamente congelado, decidir pôr termo a todo este absurdo e aterrar para acender um aquecedor de petróleo e se aquecer. Não há casaco de couro forrado de pele, conjuntos e camisas de lã ou luvas de pele de coelho que resultem. Neste último segundo, só o Sol pode salvar a situação, lançando para a terra um bilião de B. T. U. e começando gradualmente, muito gradualmente mesmo, a aquecer a atmosfera. Onde quer que vocês se encontrem neste momento, velhos pilotos, só vos digo que as manhãs de Primavera da Carolina do Sul continuam exactamente como vocês as deixaram. Andavam sempre à procura de lugares para aterrar, não fosse o motor parar de repente, e o mesmo faço eu agora. E um daqueles velhos hábitos que caíram em desuso. São astronómicas as probabilidades que um motor moderno tem de não falhar em qualquer percurso, assim como as probabilidades de não falhar em qualquer momento do percurso em que o piloto esteja a pensar num lugar para aterrar excedem os cálculos da vulgar matemática. Portanto, para além de algumas declarações que não passam de palavras, com os modernos aviões já não é preciso fazer aterragens forçadas. Então, por que havemos nós de nos preocuparmos, se o motor nunca falha? Durante muitos anos, ninguém soube entrar em parafuso e sair dele. Hoje em dia, temos cláxons e luzes de prevenção contra as circunstâncias em que um piloto inexperiente se põe a manipular o avião em parafuso. E por que razão se há-de ensinar como sair de um parafuso, se nunca vamos pô-lo em prática? Por que razão há-de ensinar acrobacias aéreas? As possibilidades que se oferecem a um piloto de salvar a própria vida, só porque sabe comandar um avião em inclinação lateral vertical ou de pernas para o ar, são bastante remotas, porque, a menos que apanhe uma enorme turbulência ou cruze o rasto de um avião a jacto, o avião não passará de uma inclinação lateral superficial. Para além de que na sua maior parte, os aviões modernos não estão autorizados a fazer acrobacias aéreas.
Foi-se a perícia dos antigos. Já não é preciso escutar o vento para saber qual é a velocidade de deslocação do ar. Basta olhar para o indicador de velocidade do ar e acreditar que é exactamente aquela. Não é preciso olhar para o lado para calcular a altitude, basta confiar no altímetro, sem esquecer que ele tem de ser regulado como deve ser antes de cada voo. Se fizermos aparecer os devidos números nos mostradores devidos, no momento oportuno, é como se fosse um automóvel de primeira classe provido de asas.
Mas nada de angústias, pois quando eu digo que se foi a perícia dos antigos não estou a falar verdade. A velha perícia e os velhos tempos continuam ao alcance daqueles que quiserem descobri-los. Ao cabo de uma hora e no fim da via férrea, aparece a cidade de Augusta. Desço para a atmosfera aquecida e acciono o leme de direcção esquerdo e a alavanca de comando à esquerda para descrever um grande círculo completo à volta do aeroporto. Lá está a manga de vento a dizer que esta manhã praticamente não há vento. Além um conjunto de pistas, que ignoro, com fileiras de relva a separá-las, a que presto toda a atenção. Acolá são as bombas vermelhas de gasolina, sem nenhum cliente a esta hora da madrugada.
Esta manhã, nem no céu há clientes. Estou só. Um pouco mais de aileron para inclinar as asas na vertical e baixar rapidamente em direcção à relva. Nos aeroportos, não é muito frequente aterrar-se sobre a relva e, quando isso acontece, é conveniente olhar bem de perto para detectar tocas de coelhos e ravinas que, porventura, se atravessem no caminho. Mas o biplano já roça pelo cimo da relva e não há altura suficiente para examinar o solo. Vamos lá ver se é tão bom para aterrar como parece.
Acelerador à frente para a potência do motor explodir, uma grande volta ascendente para a esquerda, de molde a mantermo-nos alinhados pela relva, desta vez para aterrarmos. Num espaço de três minutos chego ao fim da volta para alinhar pela relva e aproveitar a última oportunidade que se me oferece de olhar para ela. Portanto, tenham cuidado, coelhos. Tudo o que me aparece pela frente é uma superfície enorme de tela cor de laranja, travessas de ligação e barras transversais a zumbirem, um coupe-vent de alumínio brilhante, um pára-brisas dianteiro salpicado de óleo, cilindros de motor negros, a mancha de uma hélice em movimento retardado, um pequeno triângulo de céu espreitando aqui e acolá, ou um outro tufo de relva a crescer aos lados e, de repente, as rodas começam a rolar com algum esforço sobre o chão frio e as folhas de relva frias e quebradiças, que se partem aos milhares debaixo delas. E é chegado o momento de usar os pedais do leme da direcção para manter o biplano a direito, porque é preciso lembrar que foi exactamente numa altura destas que o vento cruzado o apanhou e o pôs a andar às voltas, e a partir daí não houve nada a fazer, bem meti o leme de direcção à esquerda, à direita, outra vez à esquerda, mas começou a enrolar-se todo nele próprio e garanto que não faltava muito para pararmos, por isso é bem agradável sentir que continua sob controlo e está capaz de andar aos esses para ver o que se passa logo à sua frente e avançar lentamente.
Dou uma ligeira volta, as folhas de relva partem-se agora só aos molhos de vinte e se quisesse podia sair imediatamente e caminhar pela relva. O biplano deixou de ser um aeroplano para se transformar num veículo maljeitoso de três rodas oscilantes, arrastado por meio de uma hélice que gira inutilmente em torno do seu nariz.
Rolamos pelo pavimento de um acesso à pista, onde, como relva, as suas pancadas surdas não se fazem ouvir através do processo de «aterragem.
Tem-se um minuto para acabar com o rugido nos ouvidos, um momento apenas para tirar o capacete e saborear este gesto, sentir a calma e gozá-la, desapertar o cinto de segurança e os aprestos do pára-quedas, sabendo que a qualquer momento se pode sair, dar uma volta e beber uma root beer ou ficar no escritório do aeroporto a receber o calor de um aquecedor. Não há que invejar os pilotos modernos, há é que lamentá-los, caso não tenham provado nunca a alegria de tirar um capacete de couro castanho e de desapertar o cinto de segurança de um velho aeroplano, com o motor ainda quente após o seu regresso à terra. Está um sol esplendoroso. Ainda não aquece, mas é esplendoroso. Por momentos, sinto-me tentado a procurar o conforto do escritório do aeroporto, os mapas e o telefone de comunicação com a enorme rede de informação meteorológica, para saber que vento está e que tempo faz, esta manhã, pelo país. Mas ponho a tentação de lado e os maus pensamentos à distância. Nunca se deve permitir que as necessidades de uma relíquia sejam satisfeitas por outrem. Será isto um credo entre aqueles que pilotam aeroplanos antigos? Em parte, é. Mas mais vinculatório ainda é o facto de que só o piloto sabe como cuidar da manutenção do seu engenho. Fazer uma coisa tão simples como encher o depósito de gasolina. Mas, um dia, um piloto viu-se obrigado a aterrar numa pastagem, com a hélice parada, precisamente à sua frente, e os êmbolos do motor congelados nos cilindros. Da única vez que, por estar cheio de frio, confiou os cuidados de manutenção do seu velho aeroplano a uma outra pessoa, encheram-lhe o depósito do óleo com gasolina, porque os tampões dos depósitos eram muito semelhantes e estavam mesmo lado a lado. Foi um erro estúpido, mesmo inconcebí vel, mas quando a hélice deixou de girar pouco lhe valeu o facto de ter consciência disso.
A verdadeira razão que hoje me leva a estar aqui ao frio, a rastejar por entre as asas, a abrir caminho pelo emaranhado de tirantes e arames e a obrigar a piton negra a mangueira a cuspir combustível para dentro do depósito, não tem nada a ver com a obediência a um credo nem com o receio de um medo alheio. Estou aqui porque tenho de aprender a conhecer o meu aeroplano e, ao mesmo tempo, tenho também de lhe dar oportunidade de me conhecer. Em pleno voo, hora após hora, é o aeroplano que trabalha; é o motor que, em cada minuto, absorve milhares e milhares de detonações, de energias e pressões que eu jamais conseguiria absorver num só segundo. Os arames, os tirantes e a tela das asa sustém no ar duas mil e trezentas libras de aeroplano, combustível, piloto e equipamento, à velocidade do ar de cem milhas por hora. Em cada aterragem tanto os tirantes frágeis do trem de aterragem como as rodas velhas têm de se manter firmes com a pressão que as duas mil e trezentas libras de peso, deslocando-se à velocidade de sessenta milhas por hora, exercem sobre um terreno de aterros e buracos, que impede que a força actue livremente. Só tenho de ficar sentado no cockpit e dirigir o aeroplano, e isso faço eu com apenas metade da minha atenção. A outra metade, ocupo-a eu a fugir do vento que nos sustém no ar, a fazer rodar manivelas imaginárias para me aquecer, a pensar em outros tempos, outras viagens e outros aeroplanos.
O mínimo dos mínimos que faço para reparar injustiças é prover às necessidades do meu aeroplano, antes de, por egoísmo, ir à procura do meu próprio conforto. Se eu não servisse para cuidar dele, sequer nos momentos em que tem as rodas assentes no chão, jamais me assistiria o direito de, uma vez por outra, em pleno voo, exigir dele qualquer favor especial. O favor, por exemplo, de continuar a trabalhar ainda que a chuva se abata sobre o motor ou o de os arames e os tirantes resistirem às correntes de ar súbitas e violentas dos ventos da montanha. E o favor fundamental de, no caso de se despedaçar completamente contra as rochas em situação de aterragem forçada no deserto, deixar o seu piloto sair ileso. Enquanto lhe dou a beber oitenta octanas, deixo de pensar e de analisar, mas seria natural que, pelo menos, me surpreendesse e zombasse de min próprio. Exigir um favor de um aeroplano? Dar a um aeroplano a oportunidade de conhecer-te? Que tens tu? Estás mesmo bem? Mas nada feito, o meu espírito não está para gracejos. O que estou a viver não é uma fantasia; tenho os pés bem assentes no pavimento bem sólido da já por si bem sólida terra Augusta, Jórgia; na mão direita sinto o aço duro do bico de uma mangueira de combustível, que está a derramar gasolina para dentro de um depósito bem real, e o cheiro acentuadamente ácido da gasolina a entrar no depósito inunda-me ao espreitar pelo bico para ver que quantidade de combustível o depósito é ainda capaz de aceitar. Abaixo de mim, o rapaz de serviço está a puncionar um recipiente de metal de óleo para motores, com um tubo aguçado de metal; o raspar cortante do tubo é rápido e áspero e soa demasiado verdadeiro. Não me parece que esteja num mundo de fantasia e, se estiver, ao menos é o mesmo mundo de fantasia com que me familiarizarei ao atravessá-lo durante vários anos. E estranho que não seja capaz de brincar. Podia ter gracejado, quando comecei a voar. Seria natural que, depois de voar há dez anos e há duas mil horas, ficasse a conhecer algumas daas realidades acerca da aviação e dos aeroplanos e deixasse de habitar em países fantásticos.
Sinto-me sacudido e um pouco chocado. E possível que comece a conhecer algumas dessas realidades, incluindo a de compreender um aeroplano e dar-lhe a oportunidade de me compreender. Provavelmente, é verdade que a longevidade de um piloto depende, por vezes, tanto da confiança que ele deposita no seu aeroplano como do conhecimento que tem dele e, também provavelmente, acontece outras vezes que a resposta à aviação não está nas longarinas de asa, na potência do motor, nem nas resultantes de forças, traçadas pelos engenheiros em papel milimétrico. E também é provável que, uma vez mais, eu esteja errado. Mas, com razão ou sem ela, estou aqui a meter combustível no aeroplano que é meu, por razões que me parecem verdadeiras e generosas. Se alguma vez, em pleno voo sobre um deserto, com rochas à volta tanto quanto consigo perceber, a hélice parar, vou ter, então, a oportunidade de saber se devia ou não ter brincado naquela manhã em Augusta.
o telefone dá sinal: «Para o serviço aéreoverifique se a linha está livre, carregue duas vezes no botão preto e chame ’serviço aéreo; aeroporto municipal de Augusta’.»
Há milhares de telefones destes nos aeroportos espalhados pelo país e cada um deles tem um sinal próprio, com instruções precisas de utilização. Antigamente, na aviação, um piloto seguia o seu destino sem quaisquer orientações. Carrego duas vezes no botão preto.
- Serviço aéreo.
- Serviço aéreo? Bom dia! Estou a sair de Augusta e dirijo-me para Columbus Auburin... Jackson... Vicksburg. Qual é a previsão do tempo? - Lembro-me do conselho que o comandante de uma linha de navegação aérea me deu uma vez. «Nunca leve a sério as previsões de um meteorologista. O tempo que lá faz é o tempo que se apanha, e é impossível saber como está enquanto não se chega.»
- Parece que hoje vai estar bom. Em Columbus o céu está desanuviado e a visibilidade é de doze milhas; em Jackson o céu também está limpo e a visibilidade é de vinte milhas, assim como em Vicksburg. Já agora, se lhe interessa saber, em D alas o céu também está limpo e a visibilidade é de cinquenta milhas. A previsão é de continuação de cúmulos dispersos pela tarde fora e possibilidade de aguaceiros dispersos ou chuvas torrenciais acompanhadas de trovoadas.
- E há ventos à altitude de cinco mil pés? Aguardo a resposta com interesse, ao mesmo tempo que tomo um pequeno-almoço de batatas fritas e uma garrafa de Pepsi-Cola.
- Ah, sim, deixe-me ver. Por Columbus, passam ventos de superfície, ligeiros e variáveis, que se dirigem para oeste a dez milhas por hora, quando estiver a chegar a Jackson... Vicksburg. De qualquer forma, a cinco mil pés de altitude, os ventos são de trezentos e trinta graus a quinze nós. Parece que vai estar um dia bom.
- Ainda bem. Obrigado pela informação.
- Posso saber qual é a matrícula do seu aeroplano?
- Quatro, nove, nove, Hotel.
- Muito bem. Quer registar o seu plano de voo?
- Seria conveniente, mas o meu aeroplano não tem rádio. Ri-se, como se eu tivesse dito alguma piada: só faltava agora um aeroplano não ter rádio.
-Nesse caso, não há, de facto, grande coisa afazer por si...
- Também creio que não. Obrigado pela informação meteorológica.
Dez minutos depois de pousar o auscultador no descanso, ao lado do botão preto e do guia de instruções, o biplano volta a sobrevoar a Jórgia, rumo a oeste. O ar é agora moderadamente frio e confortável. Mesmo sem um serviço meteorológico de apoio à aviação, é bom voar. Os ventos de oeste a determinada altitude transformam-se em ventos de frente, e sem eles não podemos passar.
Mantemo-nos à altitude mais baixa possível, sempre em direcção à série de campos próprios para aterrar. Por vezes, a não tão baixa altitude como parece, porque vejo os campos ainda disseminados, quais intrusos no reino dos pinheiros a almofadarem a terra. Aqui, corre estrada paralela à minha linha férrea, aqui há um lago e uma pastagem e depois há outra vez pinheiros a toda a volta. Os pinheiros a toda a volta. Os pinheiros são de um verde-seco, carregado, e entre eles sobressai o fresco verde-lima das árvores frondosas, antecipadamente viradas para o Sol, olhando-o ainda em contemplação. Tantas, tantas árvores! Paralelamente a um caminho de terra batida, há uma casa degradada, com um pátio que mais parece um labirinto. A sombra do biplano passa rapidamente sobre a chaminé da casa, e o ruído do motor deve ser insuportável e estranho. Apesar disso, nenhuma porta se abre, não há um único sinal de vida. E já desapareceu, ficou perdida lá para trás.
Quem viverá naquela casa? Que memórias guardará ela na madeira de que é feita? Que felicidade terá testemunhado, que alegrias e que derrotas? Está ali um mundo repleto de vida: de dor e prazer, de lucros, perdas e juros e de coisas ilustres que acontecem dia após dia, quando o Sol nasce, sobre os mesmos pinheiros, no oriente e sobre os mesmos pinheiros se põe no ocidente. Um mundo repleto de coisas importantes que acontecem a pessoas reais. É provável que amanhã à noite haja uma festa em Marysville e que, lá dentro de casa, estejam a passar a ferro vestidos de algodão às riscas. E provável que tenham tomado a decisão de abandonar a casa para procurarem uma vida melhor em Augusta ou Clairmont. E provável que até nem haja ninguém naquela casa e ela seja apenas a estrutura de uma casa. É provável, é provável, é provável. Aconteça o que acontecer, seja qual for a sua história, a sombra do biplano demorou menos de meio segundo a atravessá-la e a deixá-la, pequenina, lá para trás.
Vamos lá. Mantenhamo-nos acordados enquanto nevagamos. A propósito, onde estamos nós? Quantas milhas já fizemos desde Augusta quantas faltam para chegarmos a Auburm? Qual será a nossa velocidade absoluta? Quais são os nossos cálculos sobre a próxima escala? Saberei eu ao menos qual é a nossa próxima escala?
Tenham em atenção todas essas questões que antigamente se colocavam, porque eram questões muito importantes. Neste momento, com o biplano, tornam-se absolutamente irrelevantes. O problema de fixar um destino ficou resolvido imediatamente antes de descolarmos; daqui até Auburn são três horas de voo e tenho combustível para cinco horas. Basta seguir uma linha férrea para não ter problemas de orientação. Num futuro bem longínquo computadorizar estimativas e velocidades absolutas e saber ao pormenor do segundo quando é que as rodas tocavam no seu destino era um jogo predominante. Mas isso tinha a ver com outra espécie de aeroplanos e com um mundo em que as respostas eram coisas importantes. Se se errassem os cálculos, havia que avisar imediatamente um sem-número de outros aeroplanos. Quando havia crise de combustível e, num minuto, se queimava aos galões era necessário prestar a maior atenção aos ventos de frente e às velocidades absolutas. Um vento de frente muito forte significava que não ia haver combustível suficiente para chegar ao destino e que era preciso aterrar de repente para reabastecer o depósito de combustível. Era uma situação inteiramente crítica.
Agora, em 1929, que importa? Com ventos de frente, chego meia ou uma hora mais tarde, com combustível suficiente no depósito para mais uma hora de voo. Não tenho pressa, porque qualquer pessoa que pilote um biplano antigo e lento não pode ter pressa. Que importa se não conseguir fazê-lo chegar ao destino? Aterro mais cedo, num destino diferente, e na etapa seguinte ignoro o objectivo anterior para passar a outro mais além. Em 1929, sem rádio, sem equipamento de navegação e sem uma agência a aguardar ansiosamente a minha chegada, estou entregue a mim próprio. Quando vir uma pastagem plana aterro, tenho o tempo todo, não vale a pena incomodar-me, e talvez troque mesmo dez minutos de voo por uma refeição caseira.
Sei vagamente onde estou. O Sol nasce no leste e põe-se no oeste; basta-me seguir o pôr do Sol, sem olhar uma única vez para o mapa, e no devido tempo chego à outra costa dos Estados Unidos.
Qualquer cidade relativamente grande tem um aeroporto e combustível. Sendo assim, quando o nível do combustível começar a baixar, procuro a cidade, encho o depósito e continuo para oeste.
Voando a baixa altitude, o biplano de asas brilhantes voa como um berbequim e ribomba, vibrando, arrastando consigo uma sombra, a noventa milhas por hora, através do solo arenoso e das copas aciculares das árvores. Coisas que se deslocam, coisas para ver, ar para beber e cortar em faixas compridas com os arames das asas. Mas permanece o estranho toque do sonho tanto tempo sonhado. É provável que, dentro de alguns milhares de anos, voar se torne em qualquer coisa que possamos ter como real. Será queas gaivotas e os falcões têm prazer em voar? Talvez não. Talvez preferissem caminhar pelo chão a passos largos e saber o que é em solo firme sem ficarem sujeitos às agitações das correntes de ar. Gostaria de poder dizer: «Quero trocar contigo, falcão», mas teria de impor algumas condições ao negócio. Quanto mais considero a hipótese mais imposições haveria a fazer até acabar por querer apenas ser eu próprio, com capacidade para voar. É assim que me sinto neste momento. E para isso daria a minha própria vida e o modo desajeitado e ruidoso que tenho de me deslocar no ar. Porque é pela perseverança, pelo esforço e pelo sacrifício a que este modo de voar me obriga que o gozo plenamente: voar sem precisar de me esforçar seria para mim um tédio, e depressa me voltaria para qualquer outra ocupação que constituísse um desafio a mim próprio.
Um desafio: inventemos para nós próprios uma maneira de voar. E o pobre homem, preso à terra, fez tentativas, sonhou e trabalhou durante muito tempo para descobrir uma resposta. Experimentemos a pólvora como os foguetes. Experimentemos, experimentemos. Papagaios de papel, pano, penas, madeira, máquinas a vapor, armadilhas para pássaros e armação de bambu. A seguir, bambu forrado de pano e um berço para o piloto-homem. Se erigir uma montanha, estender as minhas asas de bambu no cimo dela e deslizar com o vento pela sua encosta... e já estava. Finalmente, o homem voava. Andou meses a voar do cimo de uma montanha, só faltava ser capaz de prolongar o voo, tenho de ser capaz de saborear mais plenamente este encanto raro. Depois vieram os remos, os pedais, as rodas de suplício, as manivelas, as rodas das pás, as asas batentes e um pequeno motor a gasolina de fabrico doméstico. Se pegarmos no motor, lhe adaptarmos uma corrente de transmissão que faça girar duas hélices e ajustarmos o conjunto às asas, talvez o piloto possa ficar deitado na asa inferior... Outro passo em frente, outro começo.
Um começo a partir do qual toda a humanidade iria trabalhar.
A princípio, voar é uma espécie de divertimento cego, é o desafio, é fazer algo diferente. E agradável ir a comandar um grande pássaro de metal e olhar para os pequenos edifícios, para os lagos e para as formigas lá em baixo, na estrada. Em determinada altura, para aqueles que insistem na arcaica acumulação de provas que levam à carta de piloto-aviador, o entusiasmo de comandar o pássaro transforma-se, subtilmente, no entusiasmo de ser o próprio pássaro, com olhos vivos para olhar para baixo, com asas que no solo não passam de madeira, pano e folha de alumínio, mas que no ar se tornam de tal forma animadas que até se sente as penas a esvoaçarem.
Começamos por reparar na mudança que se opera no mundo exterior a nós. Familiar, visto de baixo, torna-se estranho visto de cima e perguntamos a nós próprios qual seria a sua sensação se caísse daquela altura. Pode ser um divertimento, mas tem sempre uma componente de medo, porque, apesar de tudo, dizemos nós, o ar não é, de facto, o nosso elemento. E durante muito tempo não mudamos de opinião.
Depois vêm aqueles momentos de ansiedade em que podemos vol- tar a observar o mundo, quando o aeroplano se encarrega do próprio voo. A partir daqui, quando aprendemos a sair-nos bem de muitos problemas, a ansiedade desaparece.
E começamos então a considerar a terra e o céu como símbolos. A montanha deixa de ser um volume de terra pontiagudo a temer para passar a ser um obstáculo a ultrapassar, na prossecução de um objectivo mais elevado.
E acabamos por descobrir que o aeroplano é um professor. Um professor calmo, subtil, persuasivo, porque ilimitadamente paciente. O aeroplano não questiona as razões do seu piloto, não interpreta mal, nem guarda ressentimentos para que ele o adule. Tal como o céu, o aeroplano limita-se a estar, dando as suas lições. E, se nós quisermos, há muitas lições a aprender, e podem vir a ser pormenorizadas e profundas.
Columbus à nossa frente. Um toque para trás na alavanca de direcção, para nos elevarmos bem acima das copas das árvores. Não é permitido atravessar as cidades a baixa altitude e, mesmo que esta disposição legal não existisse, não se devia fazê-lo. Nas cidades não há muitos lugares para aterrar, no caso de um motor parar, para além de que o pensamento das pessoas que não se interessam por aeroplanos não deve ser interrompido um só momento que seja pelo som da combustão de cilindros accionando uma hélice. Estamos, portanto, a dois mil pés de altitude de Columbus e, por momentos, a viagem perde um pouco do seu interesse. A baixa altitude vê-se uma orla de terra indistinta a passar a grande velocidade. A dois mil pés de altitude, a orla desaparece e tudo se torna mais nítido e se desloca mais lentamente. Ali, são os principais acessos à cidade, com um grande movimento de automóveis e camiões. Além é uma refinaria que está a desenvolver um esforço enorme com a simples finalidade de, através do fumo das suas chaminés altas, indicar com exactidão ao piloto de um biplano que vai a passar de quelado sopra o vento. Acolá, no prado junto ao rio, é o Aeroporto Municipal de Columbus, com muitas pistas dispostas em vários ângulos para os vários tipos de vento. Há uma rampa curva de estacionamento de aviões e, em frente do terminal, notam-se as manchas de óleo dos aviões de transporte de passageiros. O Aeroporto Municipal de Columbus não é lugar para um velho biplano sem rádio.
No enorme edifício de betão brilha, por um segundo, uma luz verde. Lá está ela. Outra vez. Na torre de controlo cintila uma luz verde-brilhante. E, por detrás dela, está uma figura minúscula. Está a dar-me luz para aterrar. Mas que amável, que atencioso! A dois mil pés de altitude do seu aeroporto, fomos convidados a parar e a tomar café e conversar sobre os tempos antigos.
Muito obrigado, amigo, mas tenho mesmo de prosseguir caminho. Não quero perturbar esses aviões que acreditam em rádios. Abanamos as asas em sinal de sincero agradecimento, porque não é vulgar acontecer um convite destes. Por detrás da luz verde do Aeroporto Municipal de Columbus, há um sujeito curioso, e um dia voltarei aqui para perguntar por ele.
Um rio a correr, algumas torres altas de rádio a passarem lá em baixo, e o campo volta a cercar a cidade. As cidades estão sempre a perder a batalha. Por muito grandes que sejam, o campo está sempre presente; paciente, como um tranquilo mar verde em torno dela, à espera de voltar a cercá-la. O solo volta a passar rapidamente do Moderno para o Eterno, quando se deixa uma cidade. Uma faixa de motéis acompanha por momentos os eixos rodoviários de acesso à cidade, até que se rende e assume o campo, o controlo e, com ele, a vida e a gente tranquilas. O rugido do motor volta a descer à altura das árvores a ser absorvido pelas suas pontiagudas copas verdes.
Paralelamente à estrada deserta que me conduzirá ao aeroporto de Auburn, há um extenso campo ceifado e plano, bom para aterrar. É o dinheiro que tenho no banco que me permite o desporto e o prazer de voar a baixa altitude.
Dois enormes pinheiros à frente, uma longarina de asa distante, aproximando-se rapidamente, espreguiçando-se bem acima de nós até ao último segundo em que puxo para trás, comforça, a alavanca de direcção, meto o aileron esquerdo a fundo, e, numa curva ascendente pronunciada, vemos as agulhas a moverem-se descontroladamente. Quando nos esticamos e conseguimos tocar o chão a passar por nós, quando roçamos pelos ramos de uma árvore ao passarmos por ela, é que temos a consciência de que estamos a voar. Não há lugar onde dê mais prazer voar que num prado, que se estende de um horizonte ao outro, com árvores dispersas. Experimentem voar a baixa altitude, com as rodas a passarem em flecha pela relva; passem como um relâmpago pelas primeiras árvores, à altura de uma vaca, de modo que vos pareçam normais e impossíveis de escalar, precipitem-se para as seguintes, altivas, e então, num simples e ligeiro movimento de alavanca e leme de direcção, subam em vertical, endireitem, invertam o aeroplano e olhem para os ramos.
Mas quanto não trabalharam esses primeiros pilotos para se libertarem do chão! Consumiram anos de vida a pensar em voos a uma distância de cem pés para uma altitude de dez e uma duração de vinte segundos. Para termos hoje o prazer total e sem entraves de voar vinte segundos, mais vinte e mais vinte. Façam as rodas deslizar pelo prado e levantem-nas o suficiente para elas deslizarem pelas copas das árvores mais altas. Cortem a rajada de vento com a ponta da asa, com uma luva, com um olhar de desdém. Voar é isso. É o poder de nos arrojarmos alegremente pelo céu, de vermos o mundo familiar sob todos os ângulos, ou simplesmente de não o vermos, de virarmos a cabeça e passarmos uma hora no outro mundo de montanhas, planícies, rochedos, lagos e prados, todos eles feitos de nuvem.
Mas levem um piloto no seu aeroplano favorito e mergulhem-no no seu ambiente favorito: num prado com árvores, em montanhas a conquistar, sozinhos com as nuvens do pôr do Sol. Raramente, muito raramente mesmo, conseguem vê-lo sorrir e, para o conseguir, é preciso que estejam muito atentos. Dei comigo próprio assim e perguntei-me como era
possível.
Era um voo a baixa altitude sobre o deserto, a uma velocidade enorme, para dirigir uma flotilha de quatro F-86 Sabrejets a um determinado objectivo. As cartas estavam abertas sobre a mesa: precisávamos que a missão de treino de voo a baixa altitude preenchesse os requisitos de uma esquadrilha; tínhamos combustível a mais e havia que ir a toda a velocidade para o consumirmos; o terreno era plano e o ar estava apanhado pela calma da madrugada. No fim do voo a baixa altitude, aguardavam os objectivos da artilharia. Pilotava um bom aeroplano e a aposta era uma moeda de níquel1 por cada buraco de bala no alvo.
Nessa altura, o resultado foi que um dos ponteiros do indicador de velocidade do ar se fixou nas 540 milhas por hora e foi preciso fazer ligeiras manobras com a alavanca de direcção para seguir os ligeiros altos e baixos da terra e saltar rapidamente os cactos altos. À esquerda e à direita, iam três amigos com formação deficiente, todos eles empenhados na missão favorita de voo a baixa altitude e a alta velocidade e no desafio que os esperava. Havia na flotilha oito metralhadoras pesadas, carregadas e prontas a disparar. Quatro setas lisas de asa enviesadas para baixo, que eram a beleza consumada no seu esplendor de prata em contraste com o deserto matinal, uma delas a espetar-se num bloco rochoso, outra a mergulhar de lado num buraco para não ferir nenhuma iúca. Parecíamos crianças a brincar aos pilotos de bombardeiros a jacto, no pátio de um edifício, com brinquedos autênticos a cortarem o ar com os repentinos sons dos obuses lançados aos lagartos ao sol, sem ferirmos nem recebermos os protestos de um único ouvido humano.
Velocidade, poder e controlo; o prazer máximo dos brinquedos. Mas eu nem sequer sorria. Desperdicei um precioso segundo dessa alegria a destilar uma preocupação. Por que razão não sorria? Devia estar a rir, a cantar e, se houvesse lugar para isso, até a dançar.
Nessa altura, a lição foi-me dada por um aeroplano diferente, a uma velocidade de 543 milhas por hora e uma altitude de sete pés e três polegadas. Interioriza, interioriza, piloto. As coisas importantes só acontecem no teu íntimo. Tudo o que de grandioso, de extravagante e de diferente possa acontecer fora de ti só tem significado e importância no teu íntimo. Um sorriso é uma manifestação exterior, uma forma de comunicação. Sem ele, podes diluir-te na alegria, tê-la toda para ti próprio, conhecê-la, senti-la, ser feliz. Não precisas de a comunicar.
Para além da linha de combate, surge o aeroporto de Auburn. Alavanca de comando para trás, a rugir sobre os postes, distinguindo clara e imediatamente as duas pistas pavimentadas, as duas faixas de aterragem relvadas, uma manga de vento escarlate a agitar-se lentamente por cima das bombas de gasolina. Virado contra o vento, contorno o campo, escolho a faixa e o sítio exacto em que vamos aterrar. O pára-quedas é duro; vai ser um alívio sair daqui e pôr-me a andar a pé por aí. Lá está um biplano solitário em vias de aterrar e que, sem consciência da sua solidão, vira rapidamente em direcção à esplendorosa relva primaveril.
Apesar das inúmeras aterragens feitas sobre ela, a faixa não guarda disso quaisquer vestígios. E um lugar que convida a voltar a terra e para o qual o biplano se dirige sem hesitações, como tantas vezes já fez. Acelerador para trás, e a hélice torna-se um silencioso moinho de vento. Planamos com o verde à frente e o vento a soprar mansamente nos postes, só para nos dizer que está ali. Alavanca de comando para a frente, e, ao avançarmos, as árvores crescem de cada lado da faixa, voltam a crescer e a relva aparece delineada à frente e esbatida aos lados, alavanca de comando para trás para reduzirmos avelocidade, para trás, mais para trás... ecom uma ligeira batida pousamos e, com um ruído surdo, deslizamos sobre as três rodas pela relva irregular. Leme de direcção à esquerda, leme de direcção à direita e, de repente cá vamos nós, àquela velocidade que me permite saltar de lado e começar logo a andar. Um toque no acelerador e, lentamente, deslizarmos em direcção às bombas de gasolina e aos poucos edifícios que se agrupam à sua volta. Os edifícios não são velhos nem novos; um deles é um hangar, outro uma escola de aviação, com janelas sobre as pistas, mais um hangar nas traseiras. À porta estão algumas pessoas a conversar e a ver o biplano deslizar.
Uma explosão do motor e o pulsar do vento que, por momentos, me bate, leme de direcção à esquerda para me aproximar dabomba de mistura pobre de octano e levar a alavanca de mistura de punho vermelho à frente do nível Idle-Cutoff. O motor trabalha ainda quatro segundos, cala-se imediatamente e eu fico a ouvir os êmbolos a tinirem baixinho e a ver a hélice a parar lentamente.
Desligo os interruptores.
Desligo a válvula do combustível.
Desaperto o cinto de segurança, desato as correias do pára-quedas, tiro as luvas, tiro o capacete e fico a sentir um vento suave que não vem da hélice. Ainda é dia. Está tudo calmo. Quero sentir a calma, superficialmente que seja, porque ainda tenho o ruído do motor nos ouvidos, o ruído desse motor fantasma, do espírito de uma coisa que podíamos ser tentados a chamar de morta.
O pequeno grupo de pessoas aproxima-se quando começo a reabastecer o depósito de gasolina, mostram-se um pouco receosas e olham em silêncio para o velho aeroplano. São alunos da escola de aviação que raramente vêem aeroplanos antigos a voar. Pensarão elas que o biplano é uma herança ou apenas uma estranha relíquia que anda por aí a divagar? Gostaria de saber o que elas pensam, mas não vou agora perguntar a desconhecidos se realmente acham que se trata de uma herança. São perguntas que não se fazem, a menos que se fique a conhecer as pessoas e elas deixem de ser como estranhos para nós.
- Boa tarde. Há aqui perto algum sítio onde possa comprar uma sanduíche?
O biplano continua a voar, seguindo a estrada para oeste, preparado para todos os incidentes que se lhe depararem pela frente, desde os pequenos incidentes como o encher de um depósito de gasolina, até aos grandes incidentes, como aquele embate em parafuso na pista de Crescent. Beach, sempre preparado para aprender, enriquecer os seus conhecimentos e aplicá-los à acção futura.
A paisagem vai-se modificando quase sem se dar por isso, os pinheiros desaparecem para, no lugar deles, se plantar uma série de quintas verdejantes ao sol. Começa a parecer-se com a Terra de Oz e a estrada que sigo podia muito bem ser de tijolo amarelo. Está tudo muito limpo, e isso nota-se mesmo a uma pequena altitude de cem pés. Nas pastagens, não há uma folha de relva fora do lugar, até as vacas estão dentro dos xis marcados a giz no chão por um realizador cauteloso. Toda a gente para os seus lugares! Para os lugares! Acção! Gravar!
Sinto-me como um intruso no cenário, e o barulho do motor vai estragar a gravação do operador de som. Algures aqui à volta, debaixo de um gigantesco carvalho, deve haver um operador de som com um microfone ressonante. Mas espera aí! Parece que fazemos parte do espectáculo. E já estamos em cena:
O biplano entra a voar de leste para oeste. O som do BIPLANO aumenta de um LEVE MURMÚRIO para um enorme RUGIDO, extinguindo-se num MURMÚRIO ao chegar a oeste. Plano de corte para o cockpit do BIPLANO. A câmara detém-se por momentos nas VACAS, faz uma panorâmica da ESTRADA DE TIJOLO AMARELO, e da CASA DE QUINTA. Nota para o director de produção: A CASA DE QUINTA deve simbolizar a limpeza, a pureza, e a sua pacífica mutação através dos tempos devia sugerir que a cidade mágica acima do arco-íris toma muitas vezes formas que nos são familiares, escondendo de nós a magia que nela existe.
Plano de corte para o carvalho gigante, à sombra do qual vemos o biplano aproximar-se outra vez, no seu percurso de leste para oeste, passando através da folhagem alta com um som forte e rugidor, diminuindo e finalmente desaparecendo no Este. Desfocar e com Letering a preto e verde, gravar. Fim. .
Bom take! Vamos
Gravar.
Foi bom tudo ter corrido tão bem, mas para o biplano o espectáculo ainda vai durar muito tempo. Por debaixo de nós, centenas de realizadores que não se vêem daqui estão a trabalhar sentados nas cadeiras de costas de lona. Todos para os seus lugares! Acção! BIPLANO. CASA DE QUINTA. CIDADE ESMERALDA. E a atravessar tudo isto, a ESTRADA DE TIJOLO AMARELO. Isto é o Sul, na Primavera de 1929. A cada passo, algumas crianças, nos seus grupos de sábado, acenam e merecem ser correspondidas a cem pés de altitude. E depois vão-se embora. Ali em baixo, vivem pessoas. E eu vejo-as nos seus quotidianos, a pescarem, a nadarem, a lavarem e a acenderem o lume de onde se desprende um fumo azul que sobe pelas chaminés. O fumo move-se em espiraal, é arrastado pelo vento e diz-me que o vento de frente baixou agora ao nível do solo. Não é um vento forte, mas é o suficiente para nos impedir de atravessar a terra tão rapidamente como queríamos. E, quanto mais lentamente voamos, mais tempo temos para ver e apreciar a terra. Um aeroplano, sobretudo um aeroplano antigo, não pode ter pressas. Tem uma velocidade única de deslocação. Quanto ao biplano, preparo o acelerador para o voo horizontal até a agulha do tacómetro se fixar em 1725 rotações. É uma velocidade boa e confortável, em que o motor se comporta como deve ser, nem demasiado lento, nem demasiado apressado; a 1725 rotações é agradável ouvir o som ao vento. Sem vento, as 1725 rotações dão qualquer coisa como noventa e cinco milhas por hora: com vento de frente ao meio-dia, deslocamo-nos em terra a oitenta milhas por hora. Decididamente, não vamos alarmar o país com este cruzeiro batendo um novo recorde de velocidade.
Somos nós que nos alarmamos com o espectáculo de uma terra maravilhosa a deslizar lá em baixo. O Sul é considerado como uma região feia e, algumas vezes, em terra, chegou a parecer-nos horrível, envolvido e conturbado por um ódio cego e estúpido. Mas, como do ar não é possível ver o ódio a agitar-se, o sul transforma-se numa região cheia de docilidade e beleza.
Os aeroplanos dão aos pilotos o equilíbrio do mal, e mais de um piloto, mais de dez pilotos, guardam na memória um rol de lugares bons que viram do ar. No meu próprio arquivo, há um vale, nas montanhas que continuam com o mar em Laguna Beach, Califórnia. Esse vale fica precisamente a leste de Salt Lake City, No Utá, do outro lado da grande montanha que aí existe, por ele passa um rio e no Verão é um perfeito Shangri-la1. Na parte leste da Pensilvânia há um outro lugar que até tem uma pista relvada. Um piloto-aviador falou-me de um lugar que tinha descoberto no Arizona, a trinta e dois pés de altitude, no trajecto Nova Iorque - Los Angeles, e como o tinha estudado a partir daí sempre que por ele passava. Disse-me que era um bom sítio para onde ir viver quando se reformasse, para ficar só e tranquilo.
Há, no Norte de França, uma planície, na Alemanha um monte, no golfo da Florida um banco de areia que parece açúcar. E hoje vou acrescentar mais um local ao meu arquivo: as quintas e as pastagens da região central do Alabama. Se houver uma necessidade de evasão, todos estes lugares estão à nossa espera.
Bons lugares e bons tempos.
Não foram bons. São bons. Porque continuam a existir e, para saborear o que de bom têm, basta-me abrir o arquivo e, de entre eles, escolher um e voltar a pensar a mesma coisa que me ocorreu quando tive o acidente. Não é o acidente em si que é importante, mas sim o que com ele aprendi. O que está em causa não é o símbolo, mas sim o que ele representa. Não é a parte exterior, mas sim o que acontece dentro de nós.
Tiro um cartão à sorte. Aqui está um. Tem escrito em cima Pai e Lou - El Toro. É um acaso.
Tinha estado um ano afastado da 141.- Esquadrilha de Táctica de Combate, destacado por eles para o lado oposto do país. E um dia recebi um telefonema. De Patrick Flanagan e Lou Pisane. Ases de Corta-Mato da Guarda Aérea Nacional de Nova Jérsia, a marcar pontos outra vez. Desta vez estavam em missão de treino a 2600 milhas de Nova Jérsia e tinham aterrado o F-86 na Estação Aérea Naval de El Toro, a trinta milhas de distância do local em que me encontrava.
O cartão está escrito e cheio de memórias dos velhos tempos, do tempo em que Pat comandava um velho e obsoleto F-84F para levar a melhor sobre um sabre Mark VI da Real Força Aérea Canadiana no céu de França, para lhe seguir a pista por algum tempo através da sua mira de espingarda. Era, obviamente, um combate simulado, apesar de o Mark VI ser um aeroplano de combate e o 84 não. Mas Pat era um piloto hábil e, como tal, bastava-lhe um pequeno toque de realce aqui e acolá, e o seu dom natural para o trágico-cómico, para que o pobre Maple Leaf não tivesse a mínima hipótese logo ao princípio.
E Lou; o Lou alto e frio que me deu umas lições de paciência quando um dia lhe passei rente à asa e ele se pôs à coca e acabou por apanhar um avião de caça francês, passando, com um ruído explosivo, a uma jarda de distância da ponta da respectiva asa, para lhe lembrar que, ou se olha em volta ou se é apanhado, mesmo por um velho F-84. Aquele Lou, que era tão formal, tão bem-educado e tão recto como se tivesse sido criado na etiqueta, desde o momento em que ouvia pessoas até ao momento em que ficávamos a conhecê-lo e ele se tornava sensível, ainda que frio, mas de uma frieza de um raciocínio que não admitia o absurdo sequer do comandante geral. «Oh! Por favor, comandante. O senhor sabe tão bem como eu que ninguém lê item nenhum dessas instruções preliminares de voo. Se o que pretende é que andemos sempre com elas atrás de nós para fazermos preliminares, diga-o directamente. Mas não nos obrigue a ler cada um dos itens dessa coisa de cada vez que vamos voar.»
O cartão está arquivado em Bons Tempos, para voltar a vê-los e levá-los outra vez comigo para a base aérea de El Toro, onde, rodeados de aeroplanos da Força Aérea Naval, se encontram estacionados dois F-86 prateados da Defesa Aérea.
- Etriste ter de deixar os F-84 em França, mas o 86 também é um bom aeroplano e dentro em breve a esquadrilha vai passar a contar com os 105. Não gostavas de voltar para o pé de nós?
-Voltar para o pé de vocês? Vi-me obrigado a atravessar o país de uma ponta à outra para fugir de vocês e agora até aqui me perseguem? Bom velho 86. Lou, não te importas que dê uma vista de olhos ao teucockpit, se prometer que não toco em interruptor nenhum? Oh, meu velho, não há neste mundo cavalos fogosos suficientes que me levem outra vez para a 141.- Esquadrilha de Táctica de Combate.
Olho para o cockpit. Tudo ali está como antes: o painel de armamento, o acelerador, o interruptor do freio de velocidade, os instrumentos de voo, o interruptor do trem de aterragem, de punho comprido, o painel do corta-circuitos, as cavilhas do assento ejectável. Vocês não fazem nada para aprender, são uma má companhia.
- Lou, deixaste o teu inventário cá em cima! Como é que podes fazer uma inspecção preliminar de voo como deve ser sem o inventário? Não sabem o que é respeitar os regulamentos. Não há nada a fazer com eles.
E chega o momento de despedida ao crepúsculo, quando sobem as escadas para os respectivos cockpits e apertam os cintos de segurança. Fico com a sensação estranha e desconfortável de ter de correr para o meu aeroplano antes que eles descolem. Mas, afinal, onde está o meu aeroplano? Nunca fiquei em terra enquanto o resto da tripulação se preparava para partir. Com o capacete e a máscara de oxigénio já colocados, Pat fala por momentos no rádio, copiando o formulário de autorização de partida afixado na parte de cima do seu cockpit e lendo-o à torre de comando. Eia, Pat! Lembras-te daquela vez em que Roj Schmitt foi contigo, da primeira vez que ele foi para o ar e te disse: «Não te preocupes comigo, comanda-o como se estivesses sozinho...»? Lembras-te, Pat?
Eia, Lou! Lembras-te daquela vez em Chaumont, em que apostaste que uma descida em pára-quedas era a mesma coisa que saltar da janela de um segundo andar? Lembras-te?
E Pat desenha no espaço o círculo do motor de arranque para Lou e, diabos o levem, para mim também, de pé, sobre a rampa, vestido à homem de negócios. Por que fizeste isso, Flanagan? Sua coruja, sua coruja imbecil e maldita! E, FUM-FUM!, os dois motores explodem ao mesmo tempo, com o gemido crescente dos compressores a aspirarem o ar de admissão e o roncar das câmaras de combustão a transformarem o ar em fogo e a impelirem-no pela turbina. Se eu gritasse agora, só viam a minha boca a mexer. As rodas começam então a rolar e viram para deslizar ao meu lado, a caminho da pista. O pó invisível levanta-se do cimento, onde a pressão do ar calibrador de jacto do carburador o absorve numa tempestade abrasadora. Pat desliza por mim, sobe para o cockpit, olha para mim, em baixo, e gesticula uma saudação. Vê lá, Pat. Tem cuidado, rapaz. A ponta da sua asa roça pelo casaco do meu fato, e o leme de direcção bem virado flutua orgulhosamente. Lou vem a uma distância de vinte pés de Pat, infringindo os regulamentos. Ao deslizar, deve respeitar-se uma distância de cem pés, Pisane. Ou pensas que estás em algum festival aéreo, seu ás?
Uma saudação do cockpit, retribuída por um civil vestido à homem de negócios, de pé, no pavimento. Lou, diz ao general que eu o mando pró diabo. Capaz disso eras tu.
E deslizam pela pista, quando as luzes azuis se acendem ao anoitecer. Do fundo da pista vem uma tempestade de trovoada de dois aeroplanos a aquecerem os respectivos motores. Que estás tu a fazer agora, Pat? A verificar o combustível de emergência? Carrega nesses travões, acelera a 95% das rpm, levanta voo e mete para dentro o interruptor do combustível de emergência, deixa as rpm estabilizarem, acelera a fundo, reduz a potência e muda o interruptor para combustível normal. E Lou? Feitas as verificações, acelera para 98% rpm, segura nos travões e acena a Pat quando estiveres preparado para rodar.
Os minúsculos aviões de caça ao fundo da pista começam a mover-se, arrastando consigo o fumo negro do acelerador afundo. Crescem juntos, levantam voo juntos, as portas de Jusante abrem-se
As pastagens uniformemente cortadas de Oz dão agora lugar a um terreno pantanoso e a lagos parados e quentes. O biplano arrasta firmemente a sua própria sombra, conduzindo-a lá em baixo, pela estrada, para lentamente, muito lentamente, ultrapassar um eventual automóvel. Graças a Deus, continuamos a ultrapassar os carros. Há um ponto de separação entre Rápido e Lento. Enquanto fores capaz de ultrapassar os carros, não tens com que te preocupar. Ali adiante, aquilo que no mapa é um fino círculo azul é Demópolis, Alabama. Não longe de um rio (que no mapa serpenteia a azul) há um canavial. No centro rigorosamente geométrico de Sítio Nenhum, há um aeroporto gigantesco. Até a cidade de Demópolis fica longe da estrada. Provavelmente, durante a guerra, foram treinados naquele aeroporto quaisquer aviadores, mas actualmente está quase deserto; tem apenas uma pequena bomba de gasolina, uma manga de vento solitária e, nas imediações, um edifício degradado. Desce outra vez sobre a relva, aeroplano, e virado para o vento, para ver o que nos aparece pela frente.
Curiosamente, aparece-nos um pequeno grupo de pessoas que vêm não se sabe donde para verem o biplano. O biplano é um acontecimento em Demópolis, onde só há mais um aeroplano estacionado à vista, em cima de cinquenta acres de área à volta do aeroporto. Debaixo de sol, enquanto o combustível escorre suavemente da mangueira para o depósito, vêm as eternas perguntas.
- De onde és?
- Da Carolina do Norte. ;
- Para onde vais?
- Para Los Angeles.
Pausa. Uma olhadela ao interior do cockpit e ao pequeno quadro negro de instrumentos.
- É muito longe?
- Parece muito longe. - E penso nos galões de gasolina que ainda vou ter de bombar para dentro deste depósito, nas horas em que vou ter de continuar a espreitar à volta do pára-brisas manchado de óleo, no sol a bater-me nas costas, nas manhãs que ainda estão para vir e nos meus olhos ao anoitecer. Parece que ainda falta muito para chegar.
Entro no escritório do aeroporto, e é tempo de beber a eterna garrafa de Pepsi-Cola. Calculo que aqui esteja muito tranquilo, mas ainda tenho o som da ignição do motor, 1-3-5-2-4, nos ouvidos. Ainda vou fazer outra etapa hoje. Vou voar até ao pôr do Sol. Talvez passe já a noite no Mississipi. E bom levantar-me e caminhar aqui à volta. Hoje já estive muito tempo sentado no cockpit. Vai ser bom estender-me na relva e adormecer. Só mais uma etapa, e é o que faço.
Começa tudo a esbater-se e a correr ao mesmo tempo. Eu próprio dou comigo a tentar despachar-me. As árvores voltam a crescer e a agrupar-se à beira da estrada e, tanto quanto me parece, as copas das árvores reverdecem ao entardecer. Hoje já passei demasiadas horas sentado neste cockpit, e estou cansado.
De repente, oiço em voz baixa e em tom de espanto: cansado? Cansado de voar? Sim, senhor, basta apanhar vento durante umas horas para se ficar cansado e pronto a parar. Acabamos por perceber que entre os pilotos de outrora e os pilotos de agora há uma grande diferença. Ainda nem sequer chegaste ao meio do percurso e já estás feito num oito, apenas porque voaste umas horitas.
Muito bem, já chega. Não é muito fácil provar que os primeiros pilotos nunca se cansavam e hás-de ver que eu não tinha a mínima ideia de parar nem tão-pouco de me poupar a esforços. E a acção, não as palavras, que é capaz de me manter nessa posição. Só ficarei a saber o que significa voar se viver a experiência.
É por isso que são muitas as pessoas que viajam de avião, mas muito poucas as que sabem o que voar realmente significa. O passageiro que aguarda no terminal de um aeroporto só vê os aviões através das vidraças de vinte pés de espessura, de um cubo de ar condicionado, onde se ouve música ligeira. O som de um motor é como um murmúrio abafado a vir de fora, um ronrrom que, por momentos, faz de fundo musical. Em alguns terminais, a realidade é-lhe praticamente servida numa bandeja de prata, porque tem a oportunidade de sentir a roupa fustigada pela mesma rajada de vento que fustigou os casacos dos homens da aviação. E o avião, que já voou muitas horas e vai voar muitas mais, antes de ser substituído por outro mais moderno, está ali mesmo ao pé, a dominá-lo. No entanto, a rajada de vento dahálice não passa, muitas vezes, de uma força que lhe puxa pelalapela do casaco e, portanto, de um vexame. Até nos aviões grandes os passageiros mal reparam, se apenas estiverem preocupados em chegar o mais depressa possível à escadaria de entrada para fugirem ao vento. E este aeroplano? Será que, com tanto que tem para oferecer a quem gostava de ter tempo para o ver, passa despercebido? A curvatura da asa, que mudou o curso da história e da humanidade, será que, também ela, passa despercebida?
Dizia, que te parece? Não, nadapassa despercebido. Além,
ao vento, de mãos nos bolsos, encolhido de frio, apesar do sol que está, o co-piloto, com três galões dourados nos punhos, indiferente aos passageiros, presta toda a atenção ao seu aeroplano. Verifica se não há fugas nos tubos hidráulicos, se no poço das rodas do trem de aterragem da asa está tudo em ordem. As próprias rodas e os pneumáticos parecem estar bons. Dá uma volta ao aeroplano, olha para ele, verifica-o com prazer, sem sequer esboçar um sorriso. O retrato está completo. Os passageiros ocupam os lugares almofadados e em breve estrarão a caminho numa máquina que tantas pessoas não só não percebem como não se preocupam em perceber. Mas o co-piloto e o comandante percebem e tratam do aeroplano com toda a atenção. Assim, ninguém fica esquecido; o aeroplano está feliz, a tripulação também e os passageiros dispostos a partir.
Um aeroplano não e uma coisa una, está dividido em duas partes distintas. Na cabina dos passageiros paira o medo de que esta seja a sua Última Viagem, paira a memória dos acidentes de aviação nos títulos dos jornais, naquela atmosfera comprimida há uma certa tensão quando o motor acelera e, ao mesmo tempo, a esperança de que, uma vez mais, a viagem corra bem, antes que as notícias dos desastres que estão para vir voltem a espalhar-se pelos quiosques de jornais. Se avançarmos em direcção ao cockpit, a tensão desaparece, como se nem sequer tivesse existido. Ó comandante do lado esquerdo, o co-piloto à direita e engenheiro de voo à sua mesa de instrumentos compactos logo atrás do co-piloto. Tudo faz parte de uma rotina agradável, porque foi vivido vezes e vezes sem conta. Os aceleradores vão para a frente, todos ao mesmo tempo, com uma só mão, fazem-se testes simples e cruzados dos instrumentos do motor e da velocidade do ar que, lentamente, vai aumentando, uma mão passa do comando da direcção da roda do nariz para a coluna de comando, quando os dispositivos de comando, antes de o aeroplano descolar, já estão prontos a funcionar. O co-piloto lê o indicador de velocidade do ar: «V-um.» É um código abreviado que significa. «Comandante, estamos prontos a largar; já não existe hipótese de parar o avião antes de ele deslizar até ao fundo da pista.
«V-R.» E, pela mão do comandante, a roda de comando vai ligeiramente para trás e a roda do nariz eleva-se do chão. Após um breve intervalo, as rodas principais libertam-se do chão e o aeroplano começa a voar. O co-piloto carrega no interruptor assinalado como Trem deAterragem-Para Cima e das profundezas do aeroplano vem uma ressonância abafada, quando as rodas gigantescas e pesadas, ainda a girarem, sobem com esforço para os respectivos poços.
«V-dois.» Isto é, «à velocidade do ar a que vamos, pode um dos motores falhar à vontade, que subimos da mesma maneira». A descolagem é assinalada por verificações várias que mostram o que seria possível fazer se algum motor falhasse de repente. Para a tripulação, a descolagem é o começo de uma fase interessante em que há muitos pequenos problemas a resolver. São problemas reais, mas não difíceis, é aquela espécie de problemas que as tripulações têm de resolver a toda a hora em cada viagem! A que horas está previsto chegarmos à intersecção de Ambrose? Prepara um relatório de posição para o Centro Phoenix, ao atravessarmos Winslow, chama-os pelo rádio pelo número dois, frequência de 126.7 megaciclos. Manda um relatório para as estações meteorológicas, sobre os ventos, a turbulência, os cumes das nuvens e algum gelo, que se fazem sentir ao longo da nossa rota. Dirige o avião a 236 graus por alguns momentos, dá-lhe mais três graus a seguir e fixa-o nos 239 graus para apanharmos a direcção do vento.
Problemas insignificantes, familiares e simpáticos. De vez em quando surge um problema maior, mas isso faz parte do prazer de voar, que se torna num modo de vida diferente e agradável. Se ao menos a porta que dá da cabina dos passageiros para o cockpit não fosse mesmo uma porta, a confiança e o prazer que advêm de milhares de horas de voo podiam passar por ali e destruir a tensão e o medo que dominam entre os passageiros.
É verdade que até mesmo os pilotos-aviadores nem sempre estão à vontade quando viajam como simples passageiros. Qualquer piloto se sentiria um pouco mais à vontade se fosse a comandar o avião, em vez de ir ali sentado a olhar para uma porta sem expressão, que proibe a entrada, seja a quem for, para o cockpit. Os pilotos não sentem o mesmo prazer de voar que os passageiros, receosos por ignorância ou divertidos por inconsciência, encontram numa viagem aérea. Há sempre, lá do íntimo, o outro eu a criticar o modo como o avião está a ser conduzido. Mesmo sentado na parte traseira de um avião a jacto de 110 passageiros, é sempre uma alma solitária que, durante a aterragem, se põe a refilar inaudivelmente com o piloto. «Não aterres ainda, seu louco! Estamos a fazer-nos à pista cedo de mais! Abranda a velocidade, continua a abrandá-la... isso mesmo... é de mais, é de mais! Puxa para trás agora! Insiste, ou estás aqui, estás a...» E com uma pancada surda as rodas começam a rolar no pavimento. «Vá lá, não foi mal», diz ele do fundo da cabina dos passageiros, «mas eu teria feito melhor.»
O biplano zumbe alto ao mesmo tempo que o Sol, baixando à nossa frente, se transforma num círculo distorcido a brilhar através do pára-brisas oleoso da frente. Já não há muita luz para voar. A bola de basebol que é o Sol, lançada bem alto para parar em cima do meio-dia, desce agora a assobiar pelo horizonte abaixo. Embora o céu continue a gozar a felicidade de ter luz, a Terra já não partilha dela. A Terra é um guarda solene do tempo exacto e, quando o Sol se põe, envolve os seus habitantes, respeitosamente, na escuridão.
Vicksburg por baixo e, além, com sombras a meio caminho das ondas castanhas opacas, o Mississipi. No rio passa uma lancha e sobre ele ergue-se uma ponte, onde provavelmente se paga portagem, e o brilho dos faróis dos automóveis que sobre ela passam vai-se aproximando. É tempo de aterrar. A algumas milhas para sul fica o aeroporto de Vicksburg. Mas, segundo o mapa, há dois outros aeroportos pouco mais à frente, na direcção de oeste; se conseguisse aterrar num deles, amanhã ao pôr do Sol estaria muito mais adiante no percurso.
«Despacha-te, diz a voz. «Se não encontrares os aeroportos, aterras mesmo num campo e vais à procura de combustível mais adiante, amanhã de manhã.» A voz que está a falar é aquela voz interior que anda sempre em busca da aventura e que, vivendo apenas para ela, não se importa com o que possa acontecer ao engenho ou ao piloto. Uma vez mais, esta noite é ela quem ganha a causa. Deixamos Vicksburg e o Mississipi para trás e apressamo-nos. Luisiana desliza pelo mapa.
O campo está todo dividido em quadrados escuros, onde, provavelmente, crescem pimenta e ervilhas verdes com olhos negros. Num deles cresce igualmente um aglomerado de casas de madeira. Uma cidade. Deve haver aqui um aeroporto, mas não vejo rasto dele. É óbvio que está para aí, algures, mas às vezes é impossível descobrir os aeroportos secundários, mesmo em plena luz do dia. Muitas vezes, a palavra «aeroporto» aplica-se a uma simples pastagem junto da qual um agricultor explora camufladamente uma bomba de gasolina. A «Descoberta do Aeroporto» é um jogo publicamente conhecido e objecto de competição em algumas zonas do país. Escolhe-se qualquer um dos círculos azuis tracejados a fino num mapa de aeronáutica, um que nenhum jogador conheça. Desloca-se a intervalos de cinco minutos para o encontrar. O vencedor, aquele que for o primeiro a descobrir o aeroporto, fica com direito a gozar uma semana de superioridade sobre todos os que, apesar de terem estado mesmo por cima dele, não conseguiram descobri-lo. «Nunca me há-de acontecer uma coisa dessas», lembro-me eu de ter afirmado da primeira vez que um amigo me convidou a jogar à «Descoberta do Aeroporto». «Que jogo mais estúpido!» Mas, por uma questão de amabilidade, acabei por condescender e fui fazer com ele uma corrida para encontrar o aeroporto.
Passei a maior parte da tarde a andar às voltas por cima de um campo com muitas pastagens, procurando e voltando a procurar, passando a pente fino cada pastagem, e havia muitas, até que a minha mulher viu finalmente um aeroplano estacionado na relva e nos livrámos do jogo. Ao fim e ao cabo, era um aeroporto oficial. Debaixo das árvores havia, em vez de uma, duas bombas de gasolina à espera e uma fila de hangares pequenos, um restaurante e uma piscina.
E por isso que esta noite, a oeste do Mississipi, até nem me importo de andar às voltas. Vou procurar o curto aeroporto e, se não conseguir encontrá-lo, aterro mesmo num campo e espero pela luz do dia. Aqui as árvores estão afastadas da estrada, há grandes quintas para cada um dos lados dela e casas de quinta com luzes acesas lá dentro. Aquelas luzes fazem aumentar a minha solidão.
À frente é uma cidade, Rayville, Luisiana. O aeroporto deve ficar exactamente a oeste. Manifesta e nitidamente, ali está ele, numa única faixa estreita de asfalto, uma pequena fila de hangares, abertos, e uma manga de vento solitária e esfarrapada. Há vento cruzado. Pavimento e vento cruzado. Mas suave; não deve soprar a mais de cinco milhas por hora. Claro que isso não significa que não haja problemas. A lição que o vento cruzado me deu foi bem amarga, daquelas que nunca mais se esquecem, mas está a escurecer em terra e tenho de me decidir rapidamente. Se não aterrar aqui, tenho de escolher um campo, mas com a penumbra vai ser difícil encontrar um ao meu agrado e, para além disso, tenho de meter combustível amanhã de manhã. Era bom que conseguisse aterrar em Rayville. Já estou tão perto, são só mil pés. Mas, com vento cruzado, mil pés é muito. Penso que não há mal nenhum em passar a baixa altitude, diz uma das muitas vozes interiores. E com razão. Não se perde nada em passar pela pista a baixa altitude, a não ser alguns minutos.
Dirigimo-nos, assim, para a pista, deslizando pela rampa invisível de arque conduz ao fundo de qualquer pista porventura construída. A barreira tem aí uns dez pés. Cinco pés. Não é conveniente. O biplano tem de lutar contra o vento para conseguir descer sobre a pista; aterrar assim seria, na melhor das hipóteses, muito arriscado. Olha para ali, piloto. A menos de trinta pés da margem da pista, há um aterro comprido,^ paralelamente a ela. De que altura? Dois pés? Três pés? E demasiado alto; um aterro de um só pé já seria suficientemente alto para partir o trem de aterragem do biplano, se ele tivesse de fugir da pista estreita. E, com o vento cruzado a vir desse lado, era mesmo o que ia acontecer. Se o biplano ficasse sem trem de aterragem, era o fim da história. A hélice e o motor iriam a contorcer-se directamente para dentro da terra, os painéis da asa inferior seriam arrancados e levariam provavelmente atrás a asa superior. Não restaria muita coisa! Portanto, que é que decides?
Tenho de aterrar sem bater no aterro. Ao fim e ao cabo, até sou um bom piloto. Não sou eu que tenho quase duas mil horas de voo em vários aeroplanos? Com certeza que tenho. E já voei de zero milhas por hora a um nadinha mais do dobro da velocidade do som. De certeza absoluta que sou capaz de fazer aterrar um biplano antigo numa pista com vento cruzado a cinco milhas.
Tomada a decisão, voltamos a descer pela rampa, desta vez com a intenção de parar em terra. Cuidado! Afrouxa primeiro e deixa as rodas principais tocarem o chão. Assim mesmo. Leva a alavanca de comando à frente para as rodas principais pousarem e o leme de direcção ficar levantado no ar. Cuidado, cuidado que ele está a querer oscilar para a esquerda, para o aterro. Boa descida, se demorasse mais umbocado já estávamos a rir-nos dos nossos receios. Aqui vai ele, com a roda de bequilha a descer, puxa agora a alavanca de comando toda para trás para firmar a cauda em baixo e esperar que o leme da roda de bequilha funcione... Leme de direcção à esquerda, leme de direcção à direita a fundo, cuidado, rapaz, olha que ele está a virar, é tarde de mais, não consigo controlá-lo, vamos bater naquela porcaria!
Bem, se batemos ali, vai ser com toda a força. Manipulo do acelerador todo para a frente e pode ser que tenhamos uma oportunidade de cem de fugir da porcaria do aterro.
Que estás a fazer? Com essa aceleração é mais que certo que vamos chocar com o aterro, e não há nada a fazer, cuidado agora, agarra-te bem, cá vamos nós!
No espaço de um segundo, o biplano começa a rolar para fora da pista, com toda a aceleração e a potência toda do motor, dirigindo-se irremediavelmente para o paredão de terra batida.
E, no espaço de outro segundo, duas pessoas num só piloto entram em conflito. Uma delas já desistiu, porque tem a certeza de que, no instante a seguir, vai ficar tudo aos bocados. A outra, ainda a pensar, joga a sua última cartada e, porque está a jogar, não tem tempo sequer para dar uma vista de olhos ao indicador de velocidade do ar, para ver se o aeroplano consegue voar, e puxa para trás, com toda a força, a alavanca de direcção.
O biplano aponta o nariz para cima mas recusa-se a voar. O jogador de cartas é filósofo. Jogámos o que tínhamos e tudo perdemos. No décimo de segundo seguinte vai ouvir-se o som do embate. Espero que tenhas aprendido como são os ventos cruzados.
Dá-se o embate e, apesar do rugido do motor, oiço-o, sinto-o nos órgãos de comando. Um baque surdo ao princípio, como se tivéssemos batido com o trem de aterragem esquerdo principal em qualquer coisa muito pesada e ao mesmo tempo muito leve. E, depois, nada.
Estamos a voar!
Estamos pura e simplesmente a voar aos zigue-zagues sobre a relva do aterro. Um décimo de segundo de alívio e outro tanto de choque; à frente há uma vedação de arame farpado e um palanque de árvores. Teria sido preferível esbarrar contra o aterro. Agora vou bater naquelas árvores em pleno voo, não vou ter tempo para me livrar delas.
Vamos lá tentar.
E o jogador que assume outra vez o controlo.
O nariz para baixo, temos de baixar o nariz para ganhar velocidade de voo. Com a minha mão, movo a alavanca de comando lentamente para a frente, e as rodas rolam pela relva. A seguir voltam a levantar e o biplano adquire velocidade. A vedação aproxima-se e o jogador espera até ao último segundo, ganhando toda a velocidade que consegue. Volta a puxar a alavanca de comando para trás, ultrapassa a vedação, não tem tempo para fazer uma inclinação lateral total à direita e, subitamente, aparecemos entre dois choupos, a trinta pés de acima do solo. Por um segundo, o mundo é só de folhas verdes e ramos negros e, de repente, transforma-se num céu azul-carregado.
«Muito bem», diz bruscamente o jogador, «agora já podes dirigi-lo.» Há uma mão inerte sobre a alavanca de direcção. Mas é ela que, dentro em breve, vai levar o aeroplano a aterrar na estrada, virado para o vento, para em seguida voltar a tentar aterrar com vento cruzado na pista. Deve haver outro lugar melhor para aterrar.
Volto a circular «o aeroporto» e lá está ele. Tal como as orações dos antigos, que faziam aparecer o maná à sua volta, também eu fico a saber que o Aeroporto de Rayville tem duas faixas de aterragem e a outra faixa é relvada e está voltada para o vento. Por que é que não reparei nela mais cedo?
Cinco minutos mais tarde, o aeroplano já está estacionado ao pé dos hangares. Caminho ao longo do aterro para ver em que parte dele é que a roda esquerda bateu.
Como é possível? Até o jogador tinha a certeza de que vínhamos contra esta barreira e, de facto, sentimos ter batido nela com toda a força. Mas afinal não foi assim. Roçámos por ela tão ao de leve que não há qualquer vestígio na relva. Então não havia razão para o biplano voar; momentos antes, nem sequer tinha velocidade suficiente para manter a cauda no ar. Como um objecto inanimado, afirmariam eles, era impossível que o biplano tivesse feito um esforço especial para voar. Apresentem-me, aerodinamicamente falando, diriam eles, uma só razão para o aeroplano começar a voar antes de atingir a velocidade do voo necessária. É óbvio que não tenho uma única razão aerodinâmica para dar. Então, concluiriam, é porque no momento em que puxou a alavanca de comando para trás já tinha a velocidade de voo necessária. Caso encerrado. De que vamos falar agora?
Mas vou-me embora sem ficar convencido. Posso não saber aterrar um biplano antigo com vento cruzado, mas esta ninguém me tira da cabeça: pilotei aviões durante tempo suficiente para ficar a saber o que tenho a esperar deles. Se o biplano, quando muito a setenta pés, passou de vinte milhas por hora para pleno voo, esta foi a descolagem mais rápida que já fiz em qualquer das máquinas voadoras que conheci, à excepção dos helicópteros. E no entanto treinei, deliberada e diligentemente, descolagens rápidas, tanto em aviões pesados como em aviões ligeiros. A mais rápida que consegui foi em 290 pés de pista e apenas com as rodas fora do chão, sem ter de fugir a um aterro de dois pés.
As minhas velhas crenças foram hoje reafirmadas. Não é nos compêndios de aerodinâmica que se encontra, in fine, a resposta à aviação. Se o que se passou tivesse a ver com a aerodinâmica, neste momento o biplano estaria feito num monte de rodas, fuselagem a painéis de asa, atravessado na pista de Rayville, Luisiana. Mas não, está absolutamente inteiro, sem uma única arranhadela, preparado para as aventuras que amanhã teremos de enfrentar.
Ouve-se o barulho de uma camioneta que vem a virar para o caminho de areia do aeroporto. Tem vagamente pintado na porta ADAMS FLYING SERVICE e, por detrás da roda, aparece um sorriso enigmático debaixo de um Stetson de feltro de abas largas, levantado à frente, à boa moda dos veteranos dos Westerns.
- Não fazia a mínima ideia de que estava cá. Calhou estar a sair de casa e ouvir o som de um motor que já não se ouvia há vinte anos. Corri o mais que pude para o ver, mas você era demasiado baixo para ser um Stearman, também não se parecia com um waco e de certeza que não era um Travel-Air. Mas que raio de aeroplano é esse?
- E um Detroit-Park. Não há muitos, por isso não tenha problemas por não o identificar. Tem um motor Wright. Podia ter acertado no wright, se não estivesse todo sujo de óleo se passa. Importa-se que eu dê uma vista de olhos lá dentro?
Quando a camioneta se aproxima, os seus faróis inundam o biplano. A porta range ao abrir-se e ouvem-se os passos na areia.
- E um belo aviãozinho. Aquilo ali é o amplificador do magneto, não é? Desde miúdo, nunca mais tinha voltado a ver um aeroplano com amplificador do magneto e avanço da ignição. Isto é que é uma máquina de voo!
-É bom ouvir isso, caro senhor. A maior parte das pessoas olha para ela como se fosse impossível que um monte de paus e farrapos daqueles consiga voar.
-Não, não é nada disso. E um óptimo aeroplano. Quer que ele fique esta noite no hangar? Tiro de lá um dos Ag-Cats e metemos lá o seu. Mesmo que chova, não há problemas.
-Agradeço muito, Lyle, mas não me parece que vá chover esta noite, quero partir amanhã antes do nascer do Sol e, sozinho, é difícil tirá-lo do hangar. Estamos habituados a dormir ao relento, não se preocupe.
- Faça como quiser. Mas amanhã, antes do nascer do Sol, já eu ando por aí, nas fumigações. E posso cá vir.
- Então está bem. A propósito, há por aí alguma bomba de gasolina? Devia encher o depósito ainda esta noite.
- Claro que há. E, se quiser, também lhe indico um café onde se pode jantar.
O jantar, no café, foi temperado com uns pozinhos de Luisiana. Lyle Adams é um ianque. Veio para o sul fazer fumigações e acabou por gostar, ficar e começar a trabalhar em fumigações por conta própria. Hoje em dia, as fumigações constam essencialmente da rega e da sementeira. Não há muito mais operações para além destas. O grande e moderno Ag-Cat é um parente muito afastado do Parks e da sua era. E um biplano funcional, todo em metal e com um semeador químico no lugar do cockpit da frente. O Cat parece moderno e eficiente, e é, de facto, ambas as coisas. Adams deposita nele total confiança, adora o engenho.
-Um grande aeroplano, este. A asa, como ela vira tão bem numa área pequeníssima e entra a direito no campo. Não é como um aeroplano antigo. Lá em cima, no Minesota, estava habituado a pilotar um Howard. Transportava caçadores e pescadores para lugares inóspitos. Aterrava nos campos... Lembro-me de uma vez ter levado quatro tipos desses para o norte...
As horas passam a correr, como acontece sempre que se faz novas amizades. Quando, por fim, as luzes do café se apagam, voltamos, a tagarelar, para a camioneta do Adams, Flying Service, de regresso à relva escura, por debaixo da escura casa amarela, sob um céu negro cintilante.
- Aqui no sul há muitas estrelas, Lyle.
- É de facto um bom sítio para se viver. Quando se gosta da agricultura e ao mesmo tempo de aeroplanos. É um sítio muito agradável. Convido-o a dormir em minha casa, mas duvido que, com uma noite destas, aceite o convite. O que eu devia fazer era trazer também o meu saco-cama para aqui e ficar a dormir debaixo da asa, ao seu lado. Há muito tempo que não faço isso...
Um aperto de mão às escuras, os votos de um sono tranquilo, a promessa de voltar amanhã ao nascer do Sol, e lá vai a camioneta a triturar a areia por aí fora, a ficar mais pequena, a virar a esquina, a cintilar ainda atrás de uma fileira de árvores e a desaparecer.
Chamo-me Lyli Adams. O writh deixou de deitar ólio. É melhor ver o que se passa. Importa-se que dê uma vista de olhos lá dentro? Quando a camioneta se aproxima, os seus faróis inundam o biplano. A porta range ao abrir-se e ouvem-se os passos na areia..é dia...
Não, ainda não é dia. Há apenas um clarão de luz na direcção em que chegámos a noite passada. O saco-cama está devidamente arrumado no cockpit da frente e com ele desaparece também o último bocadinho de calor em todo o estado de Luisiana. O ar que respiro fumega à minha volta e a borracha dos altos e velhos pneumáticos é frágil e dura. Não consigo remover facilmente com os dedos as braçadeiras do coupe-vent. Ao drenar um pouco de gasolina para ver se tem água, é como hidrogénio líquido a escorrer-me pelas mãos. Talvez devesse aquecer o óleo. Vertê-lo para uma lata grande e pô-lo ao lume, a aquecer, como os pilotos de voos de exibição costumavam fazer com o óleo nas noites frias. Mas, agora, é tarde de mais. Se esta manhã não tivesse tirado o tampão do orifício da drenagem, o óleo nem sequer escorria. Solidificava no depósito, à espera de ser aquecido.
De repente, luzes brancas precipitam-se sobre o Parks, e as rodas de um camião a andar voltam a triturar a areia grossa.
- Bom dia!
- Oh! Bom dia, Lyle! Como está, para além de congelado?
- Está a falar do frio? Olhe que o tempo até está bom! Quando o frio é moderado, sentimo-nos com mais energia para trabalhar. Está preparado para tomar o pequeno-almoço?
-Esta manhã, não creio. Hoje quero avançar o mais possível, aproveitar ao máximo a luz do dia. De qualquer forma, muito obrigado.
-De que luz do dia é que está a falar? Não vai ter luz suficiente para voar por meia hora que seja. E devia comer qualquer coisa. Venha daí, é um instante, o café fica exactamente a um minuto daqui, ao fundo da estrada.
Devia explicar-lhe que não gosto de pequenos-almoços. Devia dizer-lhe que preciso de aproveitar o tempo antes do nascer do Sol para aquecer o motor. Talvez o motor nem arranque, por causa do frio, é mesmo possível que leve meia hora a inflamar.
Mas ainda está escuro e a porta do café já está aberta. É óbvio que, neste Estado, toda a gente acha que se deve tomar o pequeno-almoço, e dá mais trabalho explicar por que razão estou com pressa do que entrar para um camião e fechar a porta. Assim, prefiro perder meia hora, trocá-la por uma fritura e ficar com uma noção do que são as manhãs de um piloto de fumigações.
Venho a descobrir que é um piloto de fumigações de Luisiana que conhece toda a gente na cidade e que, como todas as outras pessoas, vai para o café antes de o Sol nascer. Ao entrarmos com as botas pesadas na sala de luzes acesas, fazendo tilintar as campainhas de latão, o xerife e os agricultores desviam os olhos das suas chávenas de café para verem o que se passa e logo a seguir desejarem um bom dia ao presidente do Adams Flying Service. E desejam-no sinceramente, porque, se para ele for um bom dia, se o tempo estiver ameno e não houver vento, também eles ganharão com isso.
Quando faz bom tempo, os seus aviões prateados não param de trabalhar nos campos deles, semeando, borrifando e matando as lagartas da couve, os percevejos do monte (pulgões lanígeros) e os escaravelhos da batata, insectos que já destruíram campos (culturas inteiras) e agricultores. Lyle Adams é um homem importante e respeitado em Rayville.
Colecciono olhares de espanto face ao meu estranho aspecto, de cachecol e pesado blusão de voo, enquanto Lyle Adams, que habita o mesmo mundo que eu, que se interessa por motores e pilota biplanos de cockpit aberto, todos os dias, a partir do Aeroporto de Rayville, colecciona «Bons dias», «Como vai» e «Hoje vai trabalhar no arroz, não é verdade, Lyle?» O meu anfitrião não é um aviador aqui na cidade, mas um homem de negócios e agricultor, é um pouco como um salvador, como um deus protector.
Sentado a uma mesa de tampo de formica preto e com uma chávena de chocolate quente à minha frente, oiço o que me espera ao voar para oeste, para a fronteira do Texas.
- A partir daqui, deve acompanhar sempre a estrada. Se se afasta uma milha da estrada e se mete pelo arvoredo, vão levar meses a encontrá-lo. A primeira parte do percurso, aqui à volta, não tem problemas... tem os campos para aterrar, em caso de necessidade. Mas, a umas trinta ou quarenta milhas daqui, aconselho-o a colar-se à estrada.
- Não conheço lá muito bem esta zona do Texas, mas pouco depois volta a ter campos e um lugarzinho para descer. Nestes últimos dias tem estado bom tempo, o vento levanta-se por volta do meio-dia e, para si, é um vento de cauda (vento favorável). Há a possibilidade de tempestades com relâmpagos e trovões mais para a tarde, mas nessa altura já você está longe daqui...
Se alguma vez tiver necessidade de saber em pormenor colmo devo voar para Luisiana, basta-me recorrer à experiência que me foi comunicada à mesa do café em Rayville. Oiço, por momentos, um homem solitário, um aviador perdido numa ilha em que ninguém fala sua língua. Não há, na cidade, mais ninguém que se regozije em saber que, para hoje, estão previstos ventos de cauda ou que se sinta reconhecido por ter sido avisado do perigo que, no oeste, as árvores representam. O meu anfitrião está a praticar uma língua que raramente fala e não esconde o prazer que isso lhe dá.
-Vai ter uma grande área anticiclónica persistente sobre Oclaoma e, durante alguns dias, o tempo vai estar bom. Mas, com o Golfo lá em baixo, também vamos passar o nosso mau bocado. Desde que fique a conhecer bem a zona, a localização dos fios (dos postes) e esse tipo de coisas, não tem problema nenhum em voar, mesmo que o tempo não seja o melhor...
No momento em que, com o amanhecer, os edifícios do outro lado adquirem uma tonalidade rubra, o camião volta a triturar a areia grossa, rangendo continuamente até parar ao lado da ponta da asa brilhante do Parks.
- Posso dar aqui uma mão? Quer que o ajude em alguma coisa?
- Com certeza. Se você quiser, Lyle, pode saltar para o cockpit, enquanto eu dou à manivela no preparador de arranque. Pode ser que com dois disparos da seringa injectora (de combustível) e uma bombada do acelerador pegue logo à primeira.
O manipulo de aço da manivela do preparador de arranque, que se projecta do coupe-vent, é como o aço de uma cuvette com cubos de gelo lá dentro. O gelo passa através das luvas.
Obstinadamente, a princípio, r-o-d-a. (Lentamente, lá dentro, começa a roncar.) E. Roda. E... roda; e... roda e... roda e, roda e roda e roda e roda, roda, roda roda roda roda-rodarrodarroda... dou à manivela quando a roda de inércia chia e bate lá dentro, pronta para empenhar e comunicar toda a sua energia à hélice.
- Já pegou! Engate já, Lyle!
Ao ser puxado, o manipulo de Engate produz um tinido muito leve, o dispositivo de arranque começa a guinchar e o motor Wright Whirlwing quebra o silêncio em dez milhões de minúsculas partículas. Num instante, o presidente do Adams Flying Service asfixia e desaparece numa nuvem de fumo azul de fogo puro. No instante seguinte, o fumo sobe em espiral e é retalhado pela rajada de vento da hélice, vai a revolver-se em direcção ao Sol incandescente, que passa através de uma sebe, e desaparece.
Do centro de um furacão, uma voz débil grita:
- Pegou logo, não foi?
- É um bom aeroplano! Vou deixá-lo a funcionar durante alguns minutos a apenas 900 rpm, para lhe dar tempo de aquecer.
Dez minutos de aquecimento para o Whirlwind e de arrefecimento para o seu piloto. Dez minutos de promessas gritadas de que lhe faria uma visita quando voltasse a passar por aqui, para ter a garantia de que um dia que Lyle Adams fosse à costa ocidental iria ver-me. Não há despedidas. O benefício social de voar é fazer amigos nos lugares menos conhecidos do mundo e saber que há possibilidades de voltar a encontrá-los um dia.
Já em terra estava um frio razoável, mas agora, a dois mil pés de altitude, ainda está mais frio do que se a temperatura fosse negativa, se é que isso é possível. A estrada principal contorce-se em direcção a oeste e o arvoredo volta a ser cerrado ao longo de Shreveport e da linha de fronteira com o Texas, que quase não se distingue.
Este vento é como uma toalha de gelo a passar-me pela cara, friccionando-a sem parar. A cada passo, tenho de engolir em seco, porque é difícil respirar. O Sol, mal acordado, vai-se levantando lentamente, de má vontade. Mesmo quando já está bem acima da linha do horizonte, continua a recusar-se aquecer a atmosfera.
Ao enfiar os dedos nas luvas de couro, sinto que é possível mantê-los quentes durante cerca de um minuto. Levo os pedais do leme da direcção acima e abaixo e faço girar a grande manivela invisível, mas nada mais consigo que passar de congelado a congelado e cansado. Lá em baixo, na estrada, ainda não passam automóveis para eu poder calcular a minha velocidade em relacção ao solo (velocidade absoluta), se bem que o fumo precoce revele já um vento de cauda. Óptimo! Quando nos pomos ao caminho para fazer, num só dia, o maior número possível de milhas, até quase vale a pena congelar por um vento de cauda.
Ainda assim, penso aterrar dentro em breve, para poder descansar e enroscar-me todo para aquecer. Não percebo por que razão não é possível pilotar um aeroplano, metido dentro de um saco-cama. Acho que deviam inventar um saco-cama com pernas e braços para que os aviadores pudessem manter o calor ao atravessarem o Sul. Se bem que a descoberta viesse um pouco tarde de mais. Mesmo que tivessem grande publicidade nas revistas e nos jornais do país e fossem postos à venda em todas as lojas de desporto, provavelmente ninguém faria grande negócio com sacos-camas especiais para aviadores. Não há muitos aviadores que sintam grande necessidade deles. E aqueles que sentem têm de se remediar com o melhor que há, com um aquecimento obsoleto de estrela tipo G e esperar acordar facilmente de manhã.
Procuro um indicador de velocidade absoluta, um veículo rodado qualquer que vá a passar na estrada e com o qual possa comparar a velocidade a que vou. Mas não tenho sorte nenhuma. Eh! Automobilistas! Já nasceu o Sol! Vamos lá andar, aí em baixo! Lá em baixo, na estrada, só um automóvel vem a rodar em direcção a mim. Não me serve de nada. Passam três, cinco minutos, ao vento agreste, até que, por fim, de um caminho, surge um sedan que se dirige para oeste. Espero que ele atinja a velocidade de cruzeiro que, esta manhã, sem movimento nas estradas, deve ser de cerca de sessenta e cinco milhas à hora, e rapidamente o ultrapassamos. Está um bom vento de cauda. Pergunto-me se o condutor terá consciência da importância que tem para mim, se saberá ao menos que esta manhã há um velho biplano no ar a observá-lo. Provavelmente, não. Provavelmente, nem sequer sabe o que é um biplano.
Até a congelar de frio se aprende. Aprende-se alguma coisa a respeito de percurso e de velocidade com alguém que vai atento unicamente ao seu próprio percurso e à sua própria velocidade e que não sabe tão-pouco que eu existo. Devemos muito aos sedan verdes, e a única forma de lhes pagarmos a dívida é seguirmos o nosso caminho com a maior segurança possível e sermos nós próprios, sem sabermos quando, indicadores para alguém que nunca chegámos a conhecer.
Quantas vezes, pergunto eu, agora reconhecido pela primeira partícula de calor que vem do leste, me apropriei e fiz uso dos exemplos que outros homens deram nas suas vidas? Toda a minha vida é decalcada nos exemplos que outras pessoas deram. Exemplos a seguir e exemplos a evitar. Exemplos sem conta. De entre os que sobressaem, têm para mim particular importância aqueles que grandemente contribuíram para a formação do meu espírito. Mas, afinal, quem sou eu senão o culminar do meu tempo, uma combinação de todos os exemplos conhecidos e, alternadamente, um exemplo individual para outra pessoa conhecer e julgar? Tenho alguma coisa de Patrick Flanagan e sou um pouco como Lou Pisane. As minhas mãos têm alguma da perícia de instrutores de voo como Bob Keech, Jamie Forbes e o tenente James Rollins. Também tenho uma parte da destreza do capitão Bob Saffell, um dos poucos sobreviventes da guerra por terra e ar da Coreia; do tenente JimTouchette, que combateu, com êxito, a Força Aérea em geral, quando achou que estava a ser desinteligente e que morreu quando tentava retirar do pátio de uma escola, no Arizona, um F-86 em chamas; do tenente-coronel Jonh Makely, um comandante de esquadrilha duro como um rochedo, para quem nada mais contava a não ser a missão da sua esquadrilha e os homens que pilotavam os respectivos aviões; de Emmett Weber, de Don Slack, de Ed Carpinello, de Don McGinley, de Lee Morton, de Keith Ulshafer, de Jim Roudabush, de Les Heneh, de Dick Travas, de Ed Fitzgerald. Tantos nomes, tantos pilotos e um bocadinho de cada um deles dentro de mim no momento em que voo num velho biplano ao amanhecer azul e frio de Luisiana.
Sem o mínimo esforço, abro os olhos para a enorme multidão de pilotos que viajam comigo neste aeroplano. E lá está Bo Beaven a olhar do outro lado para mim e a acenar friamente com a cabeça. Hank Whipple, que uma vez fez um looping com um avião de carga e que me ensinou a aterrar nas pastagens e nas praias e tanto se esforçou por me ensinar a pensar para além do aeroplano e naqueles que, por medo e submissão a um regulamento sem sentido, não tiveram da aviação o proveito devido. Christy Cagle, que foi o exemplo do gosto por aeroplanos antigos, que preferia dormir debaixo da asa do seu biplano do que numa casa, qualquer que ela fosse.
Mas no meio da escuridão há ainda outra espécie de professores. Aquele ali éoLuscombe prateado que, pela primeira vez, me arrancou do solo ciumento. Tinha um motor grande e redondo T-28, a que ele próprio chamava o «estraga-camiões», por deixar escapar do motor avariado uma corrente de fumo negro, numa altura em que eu era demasiado novato na aviação para perceber sequer que alguma coisa estava mal. UmLockheed T-33, o primeiro avião a jacto em que voei e que me ensinou que se deve pilotar um avião a segurar na alavanca de direcção com o polegar e o indicador e a pensar em subir, fazer voos picados e andar às voltas. Há uma rainha de beleza F-86 F para me mostrar como é fácil um piloto ficar encantado e apaixonado pelo seu aeroplano. Um helicóptero pequeno como umalibelinha, para mostrar como é divertido ficar parado no ar. Um planador Schweizer 1-26, em tom azul de gelo, que fala das coisas invisíveis que podem levar um piloto a deixar-se arrastar, horas a fio, pelo vento, sem precisar de um motor. O bom velho F-48 F, sólido como uma rocha, que me encobre os próprios erros ensinando-me uma série de coisas durante o voo nocturno de França. Um Cessna 310, que diz que um aeroplano pode tornar-se a tal ponto luxuoso que o piloto mal se aperceba de que ele tem uma personalidade própria. Um Republic Seabee, que diz que não há nada mais divertido que passar de uma lancha rápida (barco a motor) para um aeroplano, e vice-versa, e sentir a água límpida e transparente a chapinhar e a borbulhar ao longo do casco. Um biplano Brunner-Winkle Bird de 1928, que me convida a experimentar o divertimento de voar com um piloto que encontrou um aeroplano abandonado, passou anos a reconstruí-lo e que, por fim, volta a conceder-lhe a liberdade de voar. Um Fairchild 24 que, durante as várias centenas de horas passadas a explorar o céu, me revelou, de súbito, que o céu é um lugar real, verdadeiro, tangível e palpável. Um avião de transporte militar C-119, muito difamado, que me ensinou a não dar ouvidos ao que dizem dos «aviões que não prestam» antes de verificar por mim próprio e que me garantiu que é uma sensação agradável a de dar o sinal de luz verde de Saltar e deixar cair um molho de pára-quedas onde eles quiserem. E agora um velho biplano a tentar fazer a travessia do país.
Rápidos ou lentos, silenciosos ou ensurdecedores, levando atrás de si um rasto de vapor de água condensado a quarenta mil pés de altitude ou roçando com as rodas pela relva, com a mais pura simplicidade ou a mais opulenta luxúria, todos eles, os que ensinaram outrora e os que continuam a ensinar, se encontram aqui neste momento. Todos eles fazem parte do piloto, da mesma maneira que o piloto é uma parte deles todos. A pintura lascada de uma consola de comando, os pedais do leme da direcção desgastados por vinte anos de uso, as estrias apagadas dos diamantes incrustados nos punhos da alavanca de direcção, tudo isto são as marcas que o homem deixa no aeroplano. As marcas que o aeroplano deixa no homem só se percebem no seu pensamento e nas coisas que aprendeu e em que começou a acreditar.
A maior parte dos pilotos que conheci não são o que parecem. São duas pessoas absolutamente distintas dentro do mesmo corpo. Tiro um nome à sorte... aqui está um, Keith Ulshafer, o perfeito exemplo. Aqui está um homem que jamais alguém esperaria vir a encontrar numa esquadrilha de aviões de caça. Só em ocasiões muito especiais é que Keith Ulshafer dizia alguma coisa. Keith não tinha necessidade de impressionar bem fosse quem fosse; se alguém se dirigisse a ele e lhe dissesse. «Como piloto, não vales nada, Keith», Keith era capaz de sorrir e responder: «Se calhar tens razão.» Era impossível fazê-lo zangar. Era impossível pressioná-lo. Para ele, o problema da aviação era como um problema de cálculo integral. Apesar de ter calculado centenas de vezes a distância que era necesário percorrer para descolar, quando qualquer outro piloto olhava para fora e, pelo vento e pela temperatura, admitia situar-se num limite de cinquenta pés, Keith ia consultar o roteiro antes de cada voo e tomava nota dela, desenhando cuidadosamente os números no fundo de um formulário que era raro alguém ler. Era metódico, rigoroso, meticuloso. Para Keith, atirar um número à sorte ou tentar adivinhá-lo para saber a velocidade do ar ou o consumo de combustível, era a mesma coisa que, para um chefe de contabilidade, entrar num ringue com o Masked Phantom. Era uma brincadeira sempre que, no briefing antes de cada voo, nos sentávamos ao pé dele a ouvir o comandante de voo delinear os pormenores de uma missão de combate aéreo. Quando o vocabulário rude da futura missão lhe chegava aos ouvidos, Keith não proferia uma só palavra, comportava-se como um correspondente de um jornal técnico, sentado, ao acaso, na cadeira errada. Ninguém percebia se estava, de facto, atento, a não ser no fim, quando, muito calmamente, dizia: «O que você quer dizer é duzentos e cinquenta e seis ponto quatro megaciclos para o canal doze, não é?», corrigindo o comandante. Mas, na maior parte das vezes, Keith não dizia nada durante o briefing. Dirigia-se com todos os vagares ao seu cacifo, corria lentamente o fecho do seu fato-G, encolhia os ombros dentro do casaco de voo, brasonado, por regulamento, com raios e espadas e aquelas palavras ameaçadoras que se supõe que tipificam os pilotos dos aviões da caça. A seguir, pegando no pára-quedas como se fosse algo ainda mais desagradável, deambulava para o aeroplano. » Até mesmo a explosão da combustão do motor de arranque do seu aeroplano era mais lenta que as dos outros e o motor era mais silencioso.
Keith pilotava pelos livros. Já estruturalmente, o seu aeroplano não dava saltos nem balouçava de um lado para o outro. Era tão sólido como se fosse de chumbo. Só depois disso é que a missão propriamente dita, o combate aéreo, tinha lugar. E depois, como seria de esperar, era extremanente cauteloso. Subia e descia na vertical, fazia parafuso, precipitava-se, movia-se em espiral, deslocava-se como relâmpago pelo céu, fazia o aeroplano rodopiar de tal forma que éramos capazes de jurar que levava Keith Ulshafer a bordo quando levantou voo. Porque era como se Keith tivesse saltado para fora, imediatamente antes da descolagem, e algum louco desconhecido tivesse ocupado o seu lugar. Dava mesmo vontade de carregar no botão do microfone e perguntar-lhe: «De certeza que estás bem, Keith?»
De facto, Keith estava bem, e só com muita sorte, atenção e enorme perícia é que éramos capazes de fintar aquele incrível monstro no comando do seu aeroplano, presente em todas as missões de combate. Lá vem Keith a disparar para o alvo de bombardeamento, com o chão a desintegrar-se à sua frente; lá vai ele a aproximar-se do Dart, rebocado para o exercício de tiro ao alvo, e a atirar com aquela coisa prateada para fora do céu; cai de surpresa sobre o alvo dos foguetões e dispõe quatro deles num círculo de quinze pés de diâmetro. Em missões de apoio a jogos de guerra, em atmosfera fechada, Keith vem sempre a disparar a uma altitude suficientemente grande para arrasar o chicote da antena de rádio dos tanques, parando só depois de passar pela última vez em parafuso, numa série impecável de rotações correspondentes do aileron, e desaparecer no sol. De acordo com as regras de aterragem, voa colado à pista, tocando com as rodas precisamente sobre a linha pintada como local de aterragem. Depois, enquanto os armeiros descarregam as metralhadoras, aquele louco desce do cockpit, corre para os bosques e aparece o outro Keith Ulshafer, o correspondente de um jornal técnico, a deambularia para dentro, despe o casaco e abre o fecho do fato-G.
Começo a perceber que, adormecida dentro de nós, há uma pessoa que só acorda em momentos decisivos, quando é preciso actuar imediatamente. Vi-a há um ano no homem selvagem de Keith, encontrei-a ontem como jogadora no meu biplano. Esta pessoa existe dentro de todos nós no papel mais inverosímil que a lógica possa escolher.
No Texas, os pinheiros começam a ser derrubados e a abrir clareiras nas planícies. O Sol aquece, finalmente, a atmosfera e o vento de cauda mantém-se; até os automóveis mais ágeis ficam facilmente para trás das nossas asas.
Quando fecho os olhos, vejo o vento de cauda e o biplano, que é um ponto minúsculo sustentado por ele no ar. O vento de cauda não é mais que uma corrente de ar que se desloca no sentido contrário do turbilhão de ar mais vasto em movimento, um turbilhão que gira no sentido dos ponteiros do relógio, à volta de um grande centro de altas pressões, algures para o norte. Qualquer aeroplano que, de momento, siga precisamente a mesma direcção que eu, mas a norte desse centro, tem de lutar com ventos de frente. É claro que o vento de cauda não vai manter-se. Estou a afastar-me do centro e, mesmo que me desloque a um pouco mais de cem milhas por hora, muito em breve vou ter o vento a mudar à minha volta. Em apenas duas horas de voo o vento já passou de um simples vento de cauda a um vento de cauda de quadrante sul. Daqui por outras tantas horas, será um vento cruzado de sul, arrastando-me, obviamente, para a direita do percurso e obrigando-me a voar tão baixo quanto possível para evitar os seus perniciosos efeitos.
Aprendi a ter cuidado com os ventos que nos arrastam para a direita. Há até uma máxima que diz: «Derivar para a direita é caminhar para o perigo.» Derivar para a direita significa deixar a zona de altas pressões e de bom tempo e entrar nos centros perigosos de baixas pressões, com nuvens negras e ameaçadoras e diminuição da visibilidade devido à existência de neblina no céu. Se virasse agora ligeiramente à direita, de forma a que o vento continuasse a bater directamente na cauda do biplano, entraria num círculo vicioso de bom tempo; ficaria a rodopiar no céu com o turbilhão. Mas vou terminar como comecei. Para avançar no percurso, tenho de contar com mais uma ou duas tempestades, pelo menos. Mas sinto-me reconhecido pelo bom tempo que já tive, por aqueles dias bons que esperaram e continuam a esperar por nós, pois, tanto quanto me parece, nada indica que venhamos a ter mau tempo.
Na planície à minha frente surge o primeiro indício de uma cidade. Dalas. Mais propriamente Dalas-Fort Worth, que, pouco a pouco, se ergue e se torna mais nítida, como um gigante estendido ao sol. Viro para sul, para não ter que sobrevoar a cidade. Do ar, podia parecer outra cidade qualquer, mas não, não é isso que acontece. Não consigo ver Dalas com objectividade. Foi aqui que teve lugar uma renhida batalha a propósito de aeroportos, entre as cidades de Dalas e Fort Worth. Cada uma delas reclamava ser sede do aeroporto mais ajustado às necessidades de ambas, em que o Governo se viu obrigado a intervir para reconciliar as partes. Muitos nomes teve o aeroporto de Dalas e grande foi o mal-estar entre uns pilotos e outros, a trabalharem hoje em dia em grandes secretárias de aço, com placas em cima e o nome «Aeroporto Oficial» inscrito nelas.
Mas, para além disso, a cidade é já em si própria grande e deprimente e há mesmo um tom de tristeza no som do motor, no som abatido dos cilindros. Foi nesta cidade que o presidente foi alvejado. Ainda bem que não preciso de aterrar.
O campo torna-se um pouco mais radioso quando a cidade desaparece e descubro a Estrada Nacional n.2 80, que, durante as próximas mil milhas, vai ser a primeira ajuda desta etapa. Dentro em breve tenho de começar a pensar em aterrar num sítio qualquer. Western Hills, diz o mapa; descrevo um círculo à volta de uma cidadezinha e do respectivo aeroporto. São 08.30 horas da manhã, mas não há no campo um único sinal de vida. Os hangares estão fechados e o parque de estacionamento vazio. De certeza que vou ter de esperar para meter combustível. Com o vento a favor, fiz umaboa média e ao fundo da estrada deve haver outro aeroporto onde alguém já esteja a trabalhar. Para além do mais, cada milha percorrida é menos uma a percorrer. Considerando esta máxima de um piloto sentado num cockpit aberto absolutamente elementar, volto a relaxar, com o W do compasso magnético a mexer sob a linha de referência. Por esta altura, o vento é manifestamente cruzado e não ganho nada em continuar no ar. Sendo assim, alavanca de comando para a frente e cá vamos nós a descer para a camada da atmosfera em que o vento, por contacto com o solo, é mais brando. Estamos a cinquenta pés de altitude da estrada ainda deserta e subimos e descemos consoante o perfil das montanhas.
Aqui e acolá vou vendo um automóvel na estrada e fico a conhecer bem cada um deles, porque não vou a ultrapassá-los tão depressa. Uma station, de uma época muito posterior ao futuro, com crianças ainda não nascidas a ocuparem os lugares traseiros. Aceno-lhes através do tempo e a uma altitude de quinhentos pés na atmosfera do Texas, para, em sinal de resposta, receber uma mini-floresta de mãos a dizer adeus. Consola ver outras pessoas deslocarem-se neste espaço e não posso deixar de perguntar a mim mesmo o que pensariam elas se remontassem a 1929. Teriam algumas recordações? Lembrar-se-iam daqueles dias em que atravessaram esta mesma estrada (na altura, um simples caminho de terra batida) e viram a voar no céu, mais ou menos por onde eu vou, um aeroplano exactamente igual a este que aqui vai agora a voar? Seria que também ele avançava lentamente para desaparecer a pouco e pouco à esquerda da estrada como este está a desaparecer?
Por uma questão de hábito, voo sempre pelo lado da estrada em que nasce o Sol e pergunto-me se nos primórdios da aviação havia o mesmo hábito. Provavelmente, não. Se voarmos pelo lado do nascer do Sol, é impossível ler-se o número da matrícula. E uma espécie de hábito defensivo, mas que já me evitou problemas. Poucas pessoas sabem que, por lei, um aeroplano pode perfeitamente voar a uma altitude inferior à das copas das árvores, em zonas desabitadas. Qualquer pessoa que não ache grande piada aos aeroplanos antigos pode tirar o meu número de matrícula à vontade e obrigar-me a provar a minha inocência. Os regulamentos limitam-se a dizer que sou obrigado a voar a quinhentos pés de altitude de qualquer pessoa que esteja em terra; não interessa saber se os quinhentos pés se contam acima ou a qualquer dos lados dela. De momento, para evitar o vento e porque tenho muitos lugares planos à escolha para aterrar, prefiro optar por voar a quinhentos pés de um dos lados. Do lado do nascer do Sol.
Assim que a estrada fica livre, sobrevoo-a até as minhas rodas ficarem uma para cada lado do traço contínuo, endireito as costas no meu lugar, estico o pescoço para o pára-brisas e para o nariz comprido do biplano e fico a gozar o voo a baixa altitude. Os postes telefónicos abanam ao passar por eles e, ao pousar o cotovelo no rebordo do cockpit, volto a sentir-me como se estivesse a conduzir um automóvel. Com uma ligeira diferença, que é a de ser tentado a puxar outra vez para trás a alavanca de comando da direcção e subir imediatamente e a rugir para o céu.
Tenho um amigo, que é corredor de automóveis, que diz que o maior prazer do mundo é correr. Para ele, está claro. Continua a esquecer-se de acrescentar isso. Para qualquer outra pessoa - para min, por exemplo - é um tipo de divertimento que assusta. Como em tantas outras ocupações bem ligadas à terra, o corredor de automóveis não tem margem, não tem tempo para pensar noutras coisas. Tem de manter-se naquela faixa estreita de asfalto e basta que, de repente, lhe apareça alguma coisa pela frente, ou que a própria berma da estrada não esteja em condições, para ficar em perigo. Tem de se preocupar inteiramente com a condução, em cada segundo de aceleração. Por outro lado - e ainda bem que assim é -, o céu é para os sonhadores, porque nele há o tempo todo, a liberdade inteira. Num aeroplano antigo, os momentos da descolagem e da aterragem são um pouco perigosos, mas o voo propriamente dito é a maneira mais simples e mais facilmente controlável de viajar, desde que... desde que, nada. Há alguma coisa no caminho? Sobrevoa-se essa coisa. Anda-se à volta dela. Voa-se por debaixo dela. Circula-se por um instante, enquanto se pensa na maneira de a evitar. O corredor de automóveis não pode fazer nada disto. A única coisa que pode fazer é tentar parar. Com a margem de tempo que tem, um piloto de aviões pode sentar-se na parte de trás do cockpit e descansar. Pode passar muitos minutos a olhar pela parte de trás do aeroplano, para cima ou para baixo. Olhar em frente é uma espécie de formalidade que provém dos hábitos adquiridos em terra. Pode fazer o que quiser com o chão; incliná-lo, torcê-lo, pô-lo em cima da cabeça ou imediatamente atrás da cauda. Mas também pode simplesmente deixá-lo seguir, sonolentamente, o seu caminho, lá de baixo, olhar para ele com os olhos como fendas e torná-lo totalmente indistinto e irreal.
Os sinais, os avisos e as agências de aviação recordam solenemente que nunca se deve desviar a atenção da tarefa premente que é pilotar um aeroplano, que deixar o espírito divagar, por um segundo que seja, é desastre garantido. Mas, assim que se começa a voar, torna-se evidente que as agências se levam demasiado a sério. Tal como um candidato a piloto aprende logo na primeira aula, um aeroplano voa melhor por si próprio do que comandado por ele. Para se manter no ar, um aeroplano não exige a mesma concentração da atenção que o automóvel de corridas para se manter na sua faixa. Desde que siga a regra básica de não voar contra uma árvore ou contra a vertente de uma montanha, o piloto encontra no céu o lugar ideal para onde ir sem precisar de pensar.
Agora, ao conduzir o meu aeroplano a um pé de altitude da Estrada Nacional 80, tenho de ser um pouco mais cauteloso que naquelas alturas em que, entre as minhas rodas e a terra, há uma altitude de quinhentos ou mil pés. Agora posso tornar-me num corredor de automóveis, mas sem o castigo que sobre ele impende. Se falho na curva, posso ir direitinho contra aquela barreira, contra as rochas, os pedregulhos e as árvores, sem sentir o mais ligeiro tremor na minha máquina.
Inesperadamente, do cimo de uma montanha, vem um automóvel na minha direcção. Puxo rapidamente a alavanca de direcção para trás e dou uma volta ao Sol para ganhar os quinhentos pés. Não posso deixar de me rir para comigo mesmo. Qual seria a minha sensação se fosse a conduzir pela lomba de uma estrada vulgar num sítio remoto e de repente me visse confrontado com um aeroplano a apontar directamente para o meu pára-brisas? Sendo legal, não seria muito simpático da parte do piloto de um aeroplano fazer uma coisa dessas às pessoas, pelo que é melhor dar uma vista de olhos às montanhas, antes que pregue um grande susto a algum pobre automobilista, que preferia ficar a sós com a cadeia ininterrupta do seu pensamento.
Portanto, vamos espreitar as montanhas primeiro e só depois é que nos colamos à estrada, para tocarmos uma ou duas vezes com as rodas em cada um dos lados do traço contínuo, sem a menor intenção de assustar seja quem for.
Sobressalto-me um pouco ao olhar de relance o relógio, pois ando a voar há mais de quatro horas e neste momento já ultrapassei os meus cálculos. Ali à frente é a cidade de Ranger, Texas, que, conforme o mapa indica, tem um aeroporto. Subo para ver melhor e descubro a torre de depósito da água, o cruzamento com outra estrada e um edifício em construção. E um aeroporto. Para uma cidade tão pequena, o aeroporto é grande, com três pistas de terra batida entrecruzadas e dois hangares. Dou uma volta, verifico a manga do vento e, agradecendo em silêncio a quem decidiu construir mais uma pista de aterragem, volto-me para o vento e faço-me à pista.
Ainda nem sequer são horas de almoçar e já fiz quinhentas milhas desde Luisiana. Parece muito e fico orgulhoso, mas no futuro/passado longínquo pilotei aeroplanos que cobriam essa distância em menos de uma hora e um outro que era capaz de cobri-la em vinte minutos. Deve haver algum significado no contraste, nos espectros mutáveis dos tempos e dos aeroplanos, mas, como estou cansado de vir há quatro horas sentado num pára-quedas duro como uma pedra, de momento os significados ficam em segundo plano relativamente ao luxo que vai ser pôr-me a pé e caminhar sobre um solo imóvel. A viagem tem corrido como uma abençoada rotina, tudo de acordo com o plano previamente traçado e como eu queria que fosse. E no momento em que em Ranger, no Texas, limpo o óleo do pára-brisas e do coupe-vent, não quero pensar nem no plano nem no futuro.
Osenhor desculpe, mas não posso fazer girar a hélice à mão. Nem dar à manivela. Por razões de segurança. Se me aleijasse, o seguro não cobria as despesas.
E estranho, muito estranho mesmo, e fico furioso por ter de sair do cockpit, onde tenho estado à espera de pôr o motor em marcha. Durante todo este percurso tenho encontrado tantos voluntários para me ajudarem a dar assistência ao biplano e agora, ansioso como estou de partir, ainda sou obrigado a sair daqui, com o sol a pino, metido num casaco forrado de pele, para ir dar à manivela enquanto o empregado se mete nas encolhas e fica a olhar para min? A fúria converte-se rapidamente em energia e, no momento em que a roda de inércia começa a chiar, já eu estou demasiado cansado para me preocupar com os problemas do empregado. Puxo o manipulo de engate do motor de arranque, deixo que o motor dê sinal de vida e sacudo uma manta de pó lá atrás, deslizo para enfrentar o vento, ponho o motor em marcha e solto os travoes. No momento em que as rodas se erguem do chão, olho de relance para o relógio e começo a contar outras tantas quatro horas, de segundo a segundo. Descanso em cima da estrada minha amiga e é como se, de facto, não tivesse aterrado, como se viesse sentado atrás desta hélice desde o nascer do Sol e desde a noite anterior a ele e desde o dia que levou a essa noite. Que bom vai ser chegar à Califórnia e a casa.
O vento cruzado transforma-se agora em brisa forte, empurrando-me com força para a direita, de tal forma que me obriga a voar obliquamente em relação à estrada, combatendo o vento com a pá brilhante da minha hélice.
Combatendo o vento com a pá. Soa a poesia. Mas quando se está ombro a ombro com as forças turbulentas do céu, todas as armas são poucas. A hélice é uma das armas do piloto, porque, na medida em que gira, ele não está só. Na medida em que gira, um homem já não está sozinho a lutar contra o vento cruzado ou os ventos de frente ou o gelo sobre o mar, mas estão os dois, ele e o seu aeroplano, a trabalhar e a lutar em conjunto. Uma pessoa não se sente assim tão só. Para além de que a hélice é um amigo com as suas fraquezas e tentar saber quais são elas, para as superar, é, nessas alturas, um exercício de prudência. Uma hélice pode estar a girar corajosamente no limite máximo de rotações, a girar tão depressa quanto possível, mas se o aeroplano entra numa massa de ar a cair mais depressa do que o aeroplano consegue subir, não serve para nada estar a girar, e tanto a arma como o piloto caem em terra. Mas a simples prudência de lhe descobrir os fracos e de os tentar superar, de saber que é possível escapar a uma corrente descendente e afastar-me uma milha em direcção a um local onde o vento comece tão somente a levantar-me, enche os pulmões de altitude. Por isso, antes que a arma seja desembainhada, antes que seja necessária ou se inicie a batalha, o homem do aeroplano pode perfeitamente tentar suprir as deficiências da sua arma. Entro neste vale pela direita ou pela esquerda? De um dos lados, vai ser uma luta contínua, um furioso duelo em retirada com o vento e a montanha. Do outro lado, a menos de uma milha de distância, é possível que tenhamos um percurso suave, que precise de menos potência ainda que a normal para manter a altitude. Assim aprende o piloto a distinguir, já não entre lado esquerdo e lado direito, mas entre o lado de que sopra o vento e o lado para que se dirige. No princípio, é natural que o candidato a piloto tente ignorar o vento, afastá-lo do seu pensamento, pois tem já demasiados problemas com que se preocupar, que lhe dão boas razões para não se importar com aquilo que nem sequer vê. A resposta que o aluno vem a aprender é simplesmente ser capaz de ver o vento. O vento é um oceano gigante de ar que se agita à superfície rochosa da terra. Quando as ondas do oceano se revolvem vigorosamente e se precipitam pela encosta da montanha, é de esperar que o mesmo aconteça com o vento. Da mesma forma que o oceano se esbarra violentamente contra a base de uma falésia e é arremessado para cima, também num dia de vento forte há uma força capaz de pegar num aeroplano pelas asas e de o arremessar impetuosamente para o céu. Se voarem sempre do lado das montanhas de onde vem o vento, não terão dificuldades, voarão com o poder da consciência de quem sabe que não precisa de disparar a sua arma, seja para ganhar uma batalha ou para a evitar.
Quando não há montanhas, o piloto que olha para o céu vê enormes colunas de ar quente azul a elevarem-se das zonas aquecidas de Terra. Fixem-se por momentos numa das colunas em círculo e vão ver que o aeroplano continua a subir apesar dela, levado para cima num elevador que é negado àqueles que só acreditam naquilo que seguramente vêem. Por conseguinte, o homem que pilota um aeroplano, para ser o melhor piloto possível, tem de acreditar no invisível.
Pode andar-se muito tempo no ar sem ser preciso ter fé, porque, normalmente, a única consequência da incredulidade é exigir do motor um maior esforço e da hélice um maior desgaste. Mas se se voar o tempo suficiente e a uma distância considerável, há-de chegar o dia em que a diferença entre acreditar e não acreditar corresponderá à diferença entre ganhar ou perder completamente o jogo de ter de resolver problemas.
À nossa frente, o céu torna-se castanho com o pó que o vento levanta. É o pó que paira na atmosfera do Texas e que constitui uma das razões subjacentes aos nomes corrosivos das cidades do Texas por que passo na minha rota: Gladewater, Clearwater, Sweetwater, Mineral Wells, Big Spring. É uma região concentrada na água que, por escassear no solo abunda na imaginação e nos nomes das cidades.
Levanto os olhos e vejo que o pó coroa o espaço por cima da minha cabeça... a seis mil, talvez mesmo oito mil pés. Seria inútil tentar passar por cima dele, porque os ventos se concentrariam ainda mais no meu nariz e os carros acabariam por me ultrapassar. E verdade que consigo competir com os carros mais velozes, só tenho é de o provar. E uma sensação desconcertante. Pela estrada vai uma station azul a zumbir. Ao ter de subir um monte, fica ligeiramente para trás de min, mas ultrapassa-me quando o monte está a seu favor. Andamos a par já há alguns minutos, tanto tempo que os passageiros já não se dão ao trabalho de olhar pela janela para o biplano que vai a voar nas proximidades. Uma mulher vai a ler um jornal. Pergunto-me se terá consciência de que vou a olhar por cima do ombro dela. Certamente que não. Já não seria de esperar que o piloto de um aeroplano estivesse atento a um carro que vai a passar na estrada, quanto mais às pessoas que vão lá dentro.
Tanto quanto me parece, há, a toda a volta, uma enorme extensão de terra plana, com espaço suficiente para abrigar dez mil biplanos. Se o pó começar a tornar-se de tal forma denso que me impeça de ver, viro em direcção ao vento e aterro em qualquer parte de terreno desobstruída. Quanto mais forte for o vento, menos espaço precisa o biplano de utilizar para aterrar em segurança. Se a velocidade do vento atingir as cinquenta milhas por hora, posso aterrar sem tão-pouco precisar de fazer as rodas rolarem. Se quisesse, podia ficar uma hora a pairar sobre o lugar em que vou aterrar e pousar depois tão suavemente como um beija-flor sobre um ramo de jasmim. No entanto, o vento lá em baixo parece violento, açoitando a areia pela estrada fora, vergando e agitando as árvores secas com a força da sua determinação.
Avançamos rapidamente, e dou comigo a perguntar-me o que terão as trevas para nos oferecer a seguir, a perguntar-me se o pó e o vento serão tudo o que se esconde por detrás do mau presságio deste sinistro desvio para a direita. De qualquer forma, há aquela parte do meu pensamento que vai ficar desapontada se não houver nada mais carnívoro que esta experiência de luta.
As pequenas cidades da castanha planície aparecem lentamente, para lentamente desaparecerem atrás, à medida que o vento se desloca para soprar mais directamente contra a parte da frente do biplano. E evidente, recordo a mim próprio, que não é o vento que está a soprar sobre o biplano; o único vento que sinto é o ar que se desloca à passagem do aeroplano e o vento de rajada da hélice em funcionamento. Somos como uma dourada num profundo rio de ar, flutuando nele e sendo, ao mesmo tempo, arrastados para o seu seio. O exemplo que tradicionalmente se dá ao piloto novato é este: «Se estiveres no ar, dentro de um aeróstato, e houver um furacão, podes acender uma vela ao ar livre que a chama nem sequer tremula. Só porque te deslocas exactamente à velocidade do vento, meu amigo, precisamente como uma dourada na corrente de um rio.»
Duvido que a teoria da vela e do furacão tenha alguma vez sido demonstrada, mas parece ter lógica e a dourada é que deve saber se ela é ou não verdadeira. No entanto, é difícil aceitá-la sem restrições, do cockpit ventoso e arenoso de um aeroplano que vai a sobrevoar uma estrada longa e isolada. Se eu tivesse uma vela, talvez... mas ultrapassa-me quando o monte está a seu lavor. mós a par já há alguns minutos, tanto tempo que os passageiros já não se dão ao trabalho de olhar pela janela para o biplano que vai a voar nas proximidades. Uma mulher vai a ler um jornal. Pergunto-me se terá consciência de que vou a olhar por cima do ombro dela. Certamente que não. Jánão seria de esperar que o piloto de um aeroplano estivesse atento a um carro que vai a passar na estrada, quanto mais às pessoas que vão lá dentro.
Tanto quanto me parece, há, a toda a volta, uma enorme extensão de terra plana, com espaço suficiente para abrigar dez mil biplanos. Se o pó começar a tornar-se de tal forma denso que me impeça de ver, viro em direcção ao vento e aterro em qualquer parte de terreno desobstruída. Quanto mais forte for o vento, menos espaço precisa o biplano de utilizar para aterrar em segurança. Se a velocidade do vento atingir as cinquenta milhas por hora, posso aterrar sem tão-pouco precisar de fazer as rodas rolarem. Se quisesse, podia ficar uma hora a pairar sobre o lugar em que vou aterrar e pousar depois tão suavemente como um beila-flor sobre um ramo de jasmim. No entanto, o vento lá em baixo parece violento, açoitando a areia pela estrada fora, vergando e agitando as árvores secas com a força da sua determinação.
Avançamos rapidamente, e dou comigo a perguntar-me o que terão as trevas para nos oferecer a seguir, a perguntar-me se o pó e o vento serão tudo o que se esconde por detrás do mau presságio deste sinistro desvio para a direita. De qualquer forma, há aquela parte do meu pensamento que vai ficar desapontada se não houver nada mais carnívoro que esta experiência de luta.
As pequenas cidades da castanha planície aparecem lentamente, para lentamente desaparecerem atrás, à medida que o vento se desloca para soprar mais directamente contra a parte da frente do biplano. E evidente, recordo a mim próprio, que não é o vento que está a soprar sobre o biplano; o único vento que sinto é o ar que se desloca à passagem do aeroplano e o vento de rajada da hélice em funcionamento. Somos como uma dourada num profundo rio de ar, flutuando nele e sendo, ao mesmo tempo, arrastados para o seu seio. O exemplo que tradicionalmente se dá ao piloto novato é este: «Se estiveres no ar, dentro de um aeróstato, e houver um furacão, podes acender uma vela ao ar livre que a chama nem sequer tremula. Só porque te deslocas exactamente à velocidade do vento, meu amigo, precisamente como uma dourada na corrente de um rio.»
Duvido que a teoria da vela e do furacão tenha alguma vez sido demonstrada, mas parece ter lógica e a dourada é que deve saber se ela é ou não verdadeira. No entanto, é difícil aceitá-la sem restrições, do cockpit ventoso e arenoso de um aeroplano que vai a sobrevoar uma estrada longa e isolada. Se eu tivesse uma vela, talvez...
mas, se tivesse uma vela, continuaria a faltar-me o balão. Acalma-te, piloto, pensa mas é na tua viagem. Sabes que se a visibilidade se agravar demasiado vais ter de aterrar.
Na estrada, um automóvel solitário ultrapassa-me prontamente, mas consolo-me com o facto de se tratar de uma máquina nova e luxuosa. Se quisesse, até talvez pudesse ir a cem milhas à hora. Nas cidades mais pequenas, as pessoas deixaram o ar livre por causa do vento e, durante os longos minutos em que aquela série de casas vai passando por debaixo de mim, o meu pensamento flutua pelas pequenas aldeias ao longo das estradas francesas. Desertas. Completamente desertas. Com as persianas fechadas, mesmo em pleno dia. Nunca consegui descobrir onde viviam os aldeões franceses e deixei a Europa tão perplexo como os outros pilotos da esquadrilha, no que se refere à utilidade das aldeias e das casas.
Vagamente, pela areia, surge uma fila mais comprida de estações de serviço, mesmo pegadas à estrada. Começa a aparecer uma cidade e olho para o mapa que tenho sobre os joelhos. Cidade, cidade, cidade, ora vejamos. A cidade deve ser ... Big Spring. E um nome estranho, neste momento. Na parte norte da cidade deve haver um aeroporto, e devia pensar em aterrar. Mas não, não vou aterrar. Ainda há no depósito combustível para duas horas e, se prosseguir caminho, consigo sair da pior zona de pó. Subo para atravessar a cidade, apesar de ter a certeza de que ninguém consegue ouvir o som dos cinco cilindros com o uivar do vento. No entanto, em certas coisas, conformarmo-nos com os regulamentos torna-se um hábito. Sete minutos para atravessar a cidade. De certeza que não estou a andar muito depressa. Mas, se me afincasse ao trabalho, o vento mudava, tornava-se um vento cruzado e arrastava-me para a esquerda, antecipando coisas boas para o futuro. A espera é longa. O pára-quedas é outra vez como uma pedra debaixo de mim, incapaz de fazer as vezes de almofada que estava destinado a fazer. Gradualmente, a Midland vai passando lá em baixo. E, ainda gradualmente, Odessa, com os seus edifícios altos, elevando-se das profundezas do solo e causando-me algumas vertigens por olhar de cima para as suas dimensões. Tal como muitos pilotos, preferia voar a cinquenta mil pés de altitude do que ter de olhar para a esquina de um edifício de dois andares. Nas ruas de Odessa vêem-se algumas pessoas com a roupa a agitar-se. E, adiante, não está o céu a ficar um pouco mais brilhante? Semicerro os olhos por detrás dos óculos e parece-me, é só uma impressão, mas parece-me que o céu está a ficar mais limpo para oeste. A expectativa da luta morre dentro de min. Tudo acontece como tem de acontecer. Uma breve tempestade de pó, nem sequer violenta na sua brevidade, e o adversário é derrotado. Dou uma volta para aterrar em Monahans e preciso de menos de cem pés de pista para rolar até parar. Que sensação de segurança. Depois de o aeroplano ter pousado, conduzo-o praticamente só com o vento.
Mas, apesar de estar voltado para o vento à distância, é preciso ter cuidado em terra. Um aeroplano não está preparado para se deslocar lentamente pelo solo e, a menos que se mova cautelosamente e use cuidadosamente os seus dispositivos de comando, pode ser apanhado por um vento forte e, casualmente, sem querer, virar-se ao contrário. Quando está pousado, é capaz de suportar os insultos do sol e do mau tempo, mas uma das duas coisas a que não resiste é um vento muito forte. A outra é, obviamente, o granizo.
Agora devagar, muito devagar, até à bomba^de gasolina. Oscila ao vento. Deixo o valente motor morrer. É uma vergonha que não apareçam mais dragões a atacar nesta viagem. Daqui para a frente o tempo vai melhorar e, mais tarde, vamos mesmo ter novamente vento favorável. Os primeiros pilotos não tiveram, afinal, tantos contratempos como isso. Só falta atravessar uma pequena parte do Texas, parte do Novo México e do Arizona, para chegarmos a casa. Tem sido uma viagem praticamente de rotina. Se me despachar, amanhã à noite já estou em casa. ja A pensar nisto, coloco a mangueira no deposito de gasolina e fico a ver o combustível escarlate escorrer para dentro da escuridão.
O céu está praticamente limpo, quando, uma vez mais, trocamos a terra por debaixo das rodas pelo céu debaixo das asas e viramos para seguir a nossa fiel estrada de navegação, que jaz como uma seta fendida a apontar para El Paso. Esta noite fico em El Paso ou, se tiver sorte, em Deming, Novo México. Voamos outra vez a baixa altitude, num céu de cor ocre cozido pelo pó atrás de nós e com o sol a virar-se calmamente para vir brilhar nos nossos olhos. Atravessamos um porão alto invisível, que dá para o deserto. O deserto aparece muito repentinamente e olha-nos com uma perfeita expressão de vazio; sem sorrisos nem olhares carrancudos. Limita-se a estar ali e a esperar.
Indistintamente à nossa frente, com os contornos azul-esbatidos, aparecem as montanhas. Ainda são montanhas de fantasia, vagas e suavemente tremeluzentes. São ao todo três, uma à esquerda, outra à direita e a outra, de vertentes singularmente alcantiladas, ainda mais à direita do percurso, O sedento de aventuras, entretanto adormecido, acorda e diz: «Será que vai haver uma batalha? Que se passa? Que estás a ver ali? Uma oportunidade de lutar em desvantagem?» Mas ponho-o outra vez a dormir, contrariado, com a garantia de que não vai haver nem moinhos de vento a enfrentar nem dragões a matar.
Durante longos minutos, ao mesmo tempo que voo, relaxo ao sol e ao vento, precisando o biplano apenas de um ligeiro toque para seguir no horizonte a compasso com o traço contínuo da estrada, lá em baixo. A estrada dirige-se imperceptivelmente para a esquerda e o aeroplano vira também para a seguir. O sol está quente e o vento é fraco e pouco há a fazer a não ser esperar que a viagem chegue ao seu termo, a El Paso, como se tivesse comprado a minha passagem de avião em Monahans e o comandante tivesse a responsabilidade de me levar ao meu destino. Ao atravessar o deserto, não posso deixar de pensar naqueles que, há cem anos, sentiram esta mesma atmosfera, quando o sol era uma bola de fogo no céu e o vento era uma faca de gume irregular a mover-se pelo chão. Que coragem! Ou será que deixaram as suas casas para irem para o Oeste, não num gesto de bravura, mas apenas por quererem descobrir o que ficava para além deste caminho? Procuro vestígios de carroças, mas não encontro nada. Só há a estrada principal, a estrada do novo-riquismo e este traço contínuo que se contorce para sudoeste. Merecem-me todo o respeito. Demoraram meses a atravessar o continente, quando até um biplano antigo consegue atravessá-lo numa só semana. É um cliché, facilmente proferido em tom de escárnio. Mas é triste que, ao sobrevoar esta região, não se pense nessas pessoas. Imaginem só as pessoas lá em baixo a conduzirem bois debaixo de sol, à vista de toda a gente! Se a monotonia de milha após milha existe para um aeroplano que, apenas numa hora, faz setenta milhas, quanto mais monótonos não devem ter sido para elas todos esses meses!
Olhando a estrada em forma de cano de espingarda para o horizonte, fico entorpecido e dentro de min, direito como um fuso, salta o aventureiro. As três montanhas estão ali à frente e mais nítidas. Mas a montanha do meio, a das vertentes singularmente alcantiladas, deslocou-se para se pôr decisivamente no meu caminho. Do seu cume sai uma bigorna branca. E, por debaixo dela, começo a ver uma coluna negra de chuva oblíqua. Afinal, não estou sozinho; a grande tempestade branca de relâmpagos e trovões à nossa frente é uma personalidade absorvente, hipnotizante, no céu.
Seria fácil evitá-la. Tem muito espaço para se mexer à vontade; mas vou virar à direita e combatê-la! É o aventureiro, já bem acordado dentro de mim, ansioso por acontecimentos grandiosos e rápidos. Combate-a rapaz! Não és nenhum piegas tímido e medroso, pois não? Se arranjares alguma coragem, consegues atravessar essa coisa! Há nela algo de excitante, algo que é preciso conquistar!
Vá, volta para a cama. Seria uma loucura tentar furar a tempestade. O que, no mínimo dos mínimos, me podia acontecer era ficar todo encharcado e, no máximo, o biplano ficar em pedaços.
A nuvem cresce agora sobre min e vejo a sua bigorna atingir uma grande altura sobre a asa superior do biplano. Tenho de inclinar a cabeça para trás, para ver a extremidade dela no céu. Começamos a virar à direita.
Muito bem. Óptimo. Estás a afastar-te. Tens medo dela. E bom, não há mal nenhum em recear-se uma tempestade. Certamente que a chuva por debaixo dela não prejudica um décimo do que prejudicaria atravessá-la e não estou a exigir-te que atravesses a tempestade, mas tão-somente a chuva. Só uma pequena aventura. Olha, até podes ver, através da chuva, o que se passa do outro lado da tempestade, onde o céu volta a estar limpo. Avança. Estás a recuar. Mas nunca mais voltes a falar-me de coragem. Meu caro senhor, se não consegue atravessar este bocadinho de chuva é porque não faz a menor ideia do que é ser corajoso. Não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum em ser-se medroso e cobarde, mas é melhor não voltar a apanhá-lo outra vez a pensar em valentias, seu estupor.
Evidentemente que é uma infantilidade. Não a coragem, mas a imprudência de voar sob uma tempestade, quando, para evitá-la, basta apenas virar à direita. E ridículo. Se acredito na precaução e na prudência, tenho de as defender, evitando a tempestade.
O biplano oscila para a esquerda e aponta o nariz para a chuva negra.
Visto muito de perto, o espectáculo é, obviamente, assustador. Mas afinal é só chuva e talvez também um pouco de turbulência. A crista da nuvem sobre a minha cabeça deixou de se ver. Aperto o cinto de segurança.
O motor não quer saber de nada. Tanto se lhe dá como se lhe deu que atravessemos o tornado. Os cinco cilindros continuam a rugir por cima de uma estrada molhada, toldada pela base negra da nuvem.
Há uma ligeira turbulência, apenas um leve baque, e nopárabrisas da frente respingam as primeiras gotas de chuva.
Aqui vamos nós. Ora avança lá, tempestade! Pensas que és suficientemente grande para fazeres parar um aeroplano? Pensas que és suficientemente grande para me impedires de te atravessar?
Resposta imediata. O mundo fica cinzento, envolto num espesso lençol de chuva, uma chuva devastadora, muito mais densa do que parecia. Mesmo com o rugido do motor e o uivar do vento, consigo ouvir a chuva ribombar na tela das asas. Aguenta-te, rapaz.
A mil pés de altitude, à chuva e de uma maneira abrupta, sem pré-aviso, o motor pára.
Meu Deus!
Esforço-me por voltar à direita, à procura de uma faixa estreita onde aterrar. Seu idiota! Não vais contornar essa coisa, pois não? Talvez possamos aterrar na estrada principal!, é verdade, na estrada não, porque há vento cruzado e temos de fugir da chuva. Há alguns sítios para aterrar, mas isso seria o fim do aeroplano. Estão cheios de montículos de areia, com a robusta salva-das-boticas a ligá-los uns aos outros. Que estupidez esta, de querer voar debaixo de tempestade.
Saímos de debaixo da nuvem, e a torrente de água pára instantaneamente. Há uma batida no motor e um só cilindro em combustão. Se a única coisa que pretendes é sair da chuva, dá à bomba o acelerador, a seringa injectora de combustível, vira o interruptor dos magnetos de Ambos para Direito e tira lá de trás a caixa de utensílios de emergência e o cantil de água. Há mais uns cilindros a lutarem por sobreviver, mas a luta é desigual; imflamam uma vez, falham outras três, voltam a inflamar. São os magnetos. Foram os magnetos que ficaram molhados. O que é natural. Agora tudo o que há a fazer é deixá-los secar antes de pousarmos. Sequem lá, magnetozinhos.
Estamos agora a quinhentos pés de altitude e viramos em direcção a um trilho na areia. Se tudo correr bem, não vou dar cabo do aeroplano. Mas é preciso que corra tudo bem. Vá, magnetos, exponham-se ao sol. Por hoje, acabaram-se as tempestades para vocês. Já há mais cilindros a disparar, e mais regularmente. Se passar do magneto da direita para o da esquerda, deixa de haver combustão. Mudo outra vez, rapidamente, para o magneto da direita, e a hélice começa a girar mais depressa e, a intervalos de segundos, o motor vai funcionando normalmente, com o mesmo som daqueles motores radiais que estão sempre a ligar e a desligar. Aí está ele. A falhar ainda uma vez por outra, mas com a ignição suficiente para manter o biplano no ar. Circundamos o lugar em que vamos aterrar, a trezentos pés de altitude. Vou consultar o mapa a partir do ponto em que o tinha deixado. Faltam quarenta milhas para o aeroporto mais próximo, que é Fabens, no Texas. Mas agora estou com um dilema. Deixo um lugar onde tenho a possibilidade de aterrar em segurança ou continuo por maisquarenta milhas de deserto, a pedir por tudo que o motor aguente? Se aterrasse aqui e corresse tudo bem, deixava que os magnetos secassem, voltava a descolar e era garantido que chegava a El Paso.
Mas há outro aspecto curioso. Quando o motor parou, não fiquei assustado. Era óbvio que tinha de aterrar; não havia alternativa. Aterrar. Ponto final. Não havia nem mais discussões nem mais receios. Mas agora estou mesmo preocupado. Não é a aterragem de emergência o que mais me preocupa, mas sim o não saber a altura exacta em que isso vai acontecer. Tenho de contar que o motor pare a qualquer momento; não me surpreenderia com isso. Até ficava contente se o motor não voltasse a pegar, porque assim não teria outra alternativa a não ser aterrar e ficaria com a vida muito mais simplificada. Agora o que tenho a fazer é ganhar alguma altitude, permanecendo, entretanto, sob aquela boa faixa do deserto. A seguir, parto para Fabens, guardando sempre uma distância em relação a um bom local para aterrar no caso de o motor falhar e eu me ver obrigado a planar. Que estúpidas são as pessoas que insistem em voar com tempestades. E a conclusão a que chego, quando o plano passa do pensamento à acção e o biplano se vai esforçando por ganhar altitude sobre o deserto, com o motor a rugir por cinco minutos, logo silencioso por meio segundo e a rugir por mais seis segundos, porque estão a aproximar-se as quarenta milhas mais difíceis da minha jornada. Há um procedimento expressamente prescrito para os pilotos que é, em caso de o motor parar, prosseguirem caminho sem terem de temer as consequências disso, Mas, se ele não parar definitivamente, que é que eu faço? Vou ponderar sobre isso esta noite, com um prato de sopa e um copo de água gelada à minha frente.
O biplano desloca-se mais lentamente do que é normal, apesar da aceleração toda. Se puxo o acelerador para trás, o motor morre. Se mudo os magnetos, acontece a mesma coisa.
Só em circunstâncias muito especiais é que consegue manter-se em funcionamento. Vamos dar-lhe uma oportunidade. Se parar, ficamos descansados e acaba-se o medo. Nem que o faça num monte de estilhaços, para mim é igual, porque já sei que saio ileso disso. Faço estas e outras afirmações para me acalmar.
Se contornar a tempestade pelo lado direito, mal me lembro de que ela existe e ajudo o biplano a cruzar os ares. Em qualquer momento que me apeteça apanhar um susto, basta-me passar do magneto direito para o esquerdo e ouvir o silêncio. O aventureiro ainda está acordado e insiste comigo para que ultrapasse o medo que tenho de mudar os magnetos. Em atenção a ele, para provar a mim próprio que não tenho medo de escutar o silêncio, quando tudo lá em baixo, à volta da terra, está deserto, troco os magnetos. Mas em vão. Fico em pânico. No entanto, se o motor parasse por si e não voltasse a funcionar, tenho a certeza de que ficaria impávido e sereno. E curioso. Há uma série de pequenas reservas mentais e de interruptores para cá e para lá, a trabalharem horas extraordinárias, até à exaustão.
Ando de campo em campo, com o motor a trabalhar suavemente por instantes, para logo a seguir voltar a parar. Tenho a imagem dos magnetos na memória, ambos por debaixo do coupe-vent do motor. Aqui dentro escurece com o nevoeiro de óleo a revolver-se, mas consigo ver a água nos veios de metal dos encaixes dos magnetos e, de quando em quando, outra gota a salpicar para cima deles.
Descubro a estrada no lado oposto ao da tempestade e fico mais confortado. Pelo menos, se acontecesse agora aguma coisa, tinha a estrada para aterrar e ficava mais perto de qualquer espécie de humanidade que fosse ocasionalmente a passar. Pergunto-me se os automobilistas estarão conscientes da importância que têm para os aviadores. São uma fonte de satisfação ainda, quando, com muito movimento na estrada, o piloto consegue ultrapassar dez carros num segundo.
São uma reafirmação da vida nas regiões isoladas. E uma ajuda de último recurso quando, perdidas as esperanças, nos vemos obrigados a aterrar numa estrada e a solicitar a sua ajuda.
Sobre o nariz do aeroplano, à direita da estrada, vem a resposta à procura. Primeiro à frente, depois um pouco mais longe da distância de voo planado e, portanto, desconfortavelmente longe, até que, finalmente perto, vejo Fabens e já não me interessa saber se o motor vai parar ou não. Tomo uma bebida bem refrescante de alívio. O vento vai na direcção da faixa térrea; oh, bênção das bênçãos! Acelerador atrás, e um profundo deslizamento em círculo para perder altitude. Imaginem só. Tanta altitude. Sinto-me como um homem rico a acender fogueiras com notas de cem dólares. Voo horizontalmente à faixa térrea, solto a alavanca de comando e já estamos novamente em terra e parados. Hurra! Volto a ter terra por debaixo de mim, terra sólida e macia e uma bomba de gasolina! E uma máquina de Coca-Cola!
Fabens, Texas, jamais vos esquecerei. Em Fabens, há um restaurante que pertence ao motel da Estrada Nacional 80, nos Estados Unidos. Tal como qualquer outro café-restaurante do país, é um lugar bastante desconfortável para os criminosos antes do nascer do Sol. Em Rayville era o xerife que estava a tomar o pequeno-almoço, em Fabens é a patrulha da estrada. Lá fora, no parque, encontram-se estacionados, com os faróis acesos, dois carros patrulhas e quatro polícias, vestidos com uniformes pretos e armados de revólveres de calibre 6. Estão a tomar café ao balcão e a falar de um assassino que foi apanhado na noite anterior em El Paso.
Enquanto conversam, sinto-me culpado, e ao mesmo tempo aliviado, por ainda não serem horas de andarem à caça de assassinos. Sou um tipo de aspecto duvidoso, sentado, sozinho, na outra extremidade do balcão, a comer com um ar furtivo uma fritura. O meu fato de voo tem nódoas de gordura da caixa de lubrificação, com areia da zona centro de Odessa à mistura. As minhas botas estão brancas com o pó da pista e, de repente, tomo consciência de que a faca cosida na minha bota direita pode tornar-se algo de muito sinistro, pode dar a ideia de que tenho uma arma escondida. Cruzo a bota esquerda sobre a direita, sentindo-me cada vez mais como um fugitivo previdente.
- O senhor quer uma boleia para o aeroporto? Espero que o tilintar da minha chávena de chocolate quente, em sobressalto, não me caracterize como um assassino.
- Você é que é o tipo do biplano que está lá fora, não é?
- Como é que sabe?
- Vi-o chegar na noite passada. É que eu também faço uns voos por aí, num Cessna 150.
Esqueço-me da arma que tenho escondida, aceito a boleia e a conversa passa dos assassinos para os bons velhos tempos da aviação.
De madrugada, os magnetos já estão secos. Enquanto aqueço o motor, antes de descolar, não falham uma única batida. Era essa a minha preocupação. Não podia haver outra explicação. Os magnetos apanharam chuva, mas, a partir do momento em que secaram, não devo voltar a ter problemas com o motor.
Assim, antes de o Sol atingir o seu auge, um biplano singular deixa o solo de Fabens, no Texas, e começa a seguir uma estrada que vai para oeste. Demoro alguns momentos a acalmar. Foi justamente neste cockpit que ontem me surgiram problemas desagradáveis, e vou precisar de um ou dois minutos para me convencer de que as dificuldades já desapareceram. Movo o selector dos magnetos da Direita para a Esquerda e não detecto a menor alteração de som no motor. Não podia exigir melhor sistema de ignição. Mas convém estar sempre à coca de um lugar para aterrar.
El Paso, com a sua montanha muito própria, aos primeiros raios de sol. Já tinha observado o Sol desta montanha, mas agora os tempos vêm-me à memória em catadupa, sem que para eles busque qualquer sentido. Só sei que já aqui tinha estado, mas estou com pressa de sair de El Paso, uma mera escala para verificação, uma sombra em rede que diminui atrás de mim.
A estrada também já desapareceu e nas próximas oitenta milhas a navegação vai ser tradicional: uma linha férrea, imaginem! E é isto um deserto! A visibilidade deve ser de cem milhas e é como se observasse ao microscópio uma folha de jornal sépia: pequenas matas de salva do deserto sobre montículos de areia, cada uma delas precisamente a oito pés de distância à volta das outras. Cada uma das matas pode ser o centro do deserto e as restantes estendem-se de uma forma perfeita e absolutamente regular até ao fim da terra. Aqui, até o mapa desiste e suspira. A linha negra da via férrea corre, polegada após polegada, pelos minúsculos pontos neutros que significam que a partir daqui não há mais nada.
Pára agora, motor, para descobrirmos quanto tempo temos de esperar por um comboio que atravesse estas linhas. Não ouso voar baixo. Em primeiro lugar, para poderes escolher à vontade um lugar para aterrar. Em segundo lugar, porque temo que as linhas estejam ferrugentas.
Magneto direito. Óptimo. Magneto esquerdo... não era este que falhava uma batida? É capaz de não ter sido este; agora volto rapidamente a ligar Ambos. Bom, é melhor assobiar para arranjar coragem. Tenho a certeza de que há uma borboletazinha de ar no carburador. Problema do Automático, tal como, quando um motor aopanha água e está fora da distância de voo planado da terra, falha nas batidas. Sim, sim, é isso, meu bom velho Automático, seu brincalhão; não vale a pena voltar a testar os magnetos.
Escutando muito atentamente, consigo ouvir o barulho irregular do motor. A única pergunta a que não consigo responder é se o bater irregular do motor é ou não normal, porque nunca tinha ouvido tão de perto este motor. Assemelha-se a uma máquina de costura a falhar os pontos. Como diz a mecânica, nada se repara sem que alguma coisa esteja mal; só tenho de esperar que a falha se agrave.
Por debaixo de nós deslizam milhas desconfortáveis de deserto. Evidentemente que nos afecta termos, de um momento para o outro, de deixar de confiar no motor. Não posso deixar de pensar que, quanto menos confio no motor, menos digno de confiança ele se torna, e estou mesmo a ver que a minha pequena máquina de costura vai ter um colapso total.
Vamos lá, motor; és levado da breca. Continua a funcionar, seu diabrete; aposto que, se tentasse parar-te, não conseguia, tão bem vais a funcionar. Lembra-te dos motores, teus irmãos, que bateram recordes de resistência e atraíram o espírito de St. Louis, desde Roosevelt Field até Lê Bourget. Não ficariam muito satisfeitos contigo se soubessem que admitias parar no deserto, não achas? Tens muito combustível e muito óleo, óleo quente e limpo, e a manhã está seca. Está um tempo óptimo para voar, não concordas? Sim, claro
que está.
Estou com pressa, com muita pressa mesmo. Neste momento não me interessa se estou ou não a aprender, só me interessa que este motor continue a trabalhar para chegarmos rapidamente à Califórnia. A aprendizagem é um pequeno e nebuloso fogo fátuo, que desaparece num abrir e fechar de olhos e permite pensar noutras coisas. Quando estou com pressa, o aeroplano morre e cala-se debaixo de mim e fico cansado, porque vou a conduzir no ar uma máquina com a qual nada aprendo.
Aproxima-se no horizonte a primeira curva da linha férrea e, à sua volta, Deming, Novo México. Vamos chegar a Deming em boa forma, não vamos motor? Claro que sim. E a seguir a Deming é Lordsburg e, meu Deus! já não estamos longe de casa, pois não? Só é preciso que te mantenhas em forma no teu chape-chape até ali acima, meu amigo.
E aí está Deming a deslizar por nós e outra estrada para seguir. E Lordsburg. O motor não solta um único gemido. Depois de Lordsburg, sigo, sem precisar de consultar o mapa, para o Arizona. Mas, se vou pela estrada, de certeza que ela vai dar a Tucson. Estou sentado no cockpit a ver o pó do chão a rodopiar. Agora, sem o mapa, as montanhas são uma surpresa, como se isto fosse um território completamente inexplorado. A próxima escala é Tucson.
A estrada serpenteia por alguns momentos, contorcendo-se pelas montanhas rochosas. Uma casa de adobe à direita, um conjunto de edifícios enormes à esquerda, à volta de um lago tão liso como o óleo do motor. Não há a mais pequena ondulação de vento.
É natural que fiquemos impacientes, quando não sabemos exactamente onde estamos. Anda lá, Tucson. A seguir a esta curva? A esta? Está bem, Tucson... vamos lá, aparece.
Serpenteamos sobre um vale solitário com os ecos das montanhas à volta a repercutirem-se. Em Tucson temos de estar atentos; há lá grandes aeroportos e grandes aeroplanos. Seria bom ver outro aeroplano. Desde o Alabama que não vejo nenhum! Mesmo em Dalas, nem um único aeroplano consegui ver. Estou a falar de tráfego aéreo. E possível que não se considere como céu os primeiros mil pés de altitude.
Aí está ele, de repente, como nos filmes de veleiros, quando o vigia grita «Terra à vista!» e a câmara se vira para encontrar terra apenas a uma centena de jardas de distância. Há no ar uma cintilação prateada, um aeroplano a voar. E um avião de transporte a fazer-se à pista do Tucson Internacional. Um avião de transporte. No céu, parece tão estranho como se fosse uma pintura a óleo de um aeroplano, a deslizar sobre trilhos invisíveis, em direcção à pista.
À direita, é a gigantesca base da Força Aérea Davis-Monthan, com uma pista de cerca de três milhas de comprimento. Podia aterrar naquela pista imensa, com espaço de sobra, mas os aeroplanos, pesados como montanhas, que descolam da base, precisam, por vezes, de cada um dos pés do comprimento da pista para descolarem. Que modo esquisito de descolar!
Foi precisamente ali, na esquina da rampa de estacionamento, que, num fim-de-semana, me vi sozinho, a braços com um avião de combate que não conseguia arrancar. Era um problema qualquer de ignição. Bem deitava toda a espécie de combustível nos carburadores e no tubo de escape, mas não pegava... não conseguia queimá-lo. Pensei seriamente em atirar com papel de jornal em chama para cima da escape, ir, imediatamente, a correr para o cockpit e ligar o acelerador para fazer passar o combustível. Mas, entretanto, apareceu um mecânico que conseguiu reparar o circuito de ignição, sem me dar tempo para arranjar o jornal e o fósforo. Continuo a perguntar o que me teria acontecido se não fosse ele.
Vai um outro aeroplano, desta vez mais pequeno, no céu, por debaixo de mim, e balouço as asas para ele. Mas não repara em mim. Ou até pode ser que tenha reparado, mas que seja um daqueles que não acreditam que os aeroplanos se cumprimentem abanando as asas. Penso que este costume está a ficar fora de moda, o de abanar as asas para dizer «Olá!» e «Não te preocupes, que eu estou a ver-te.» De qualquer forma, dou-lhe a possibilidade de continuar a existir. Penso que é uma espécie de camaradagem e que, insistindo no costume, podia fazê-lo ressuscitar. Que podia fazer que toda a gente abanasse as asas a toda a gente. Fossem eles aviões de transporte a jacto, bombardeiros, aviões particulares ou aviões comerciais. Hum! Talvez fosse longe de mais. Talvez seja preferível manter o costume num grupo restrito.
Uma montanha a norte de Tucson, e é tempo de voltar a aterrar, desta vez num campo que pertenceu ao Exército e a que chamam agora Marana Air Park. É como plantar flores numa granada de mão. Está pavimentado e voltado para o vento. Por esta altura, já devia estar habituado ao biplano, mas há entre nós o obstáculo da pressa. Aterramos sem incidentes e paramos. No entanto, sei que há uma circunstância em que não consigo controlar o aeroplano, se ele muda de direcção, seja para a esquerda ou para a direita. É como se escorregássemos em vidro untado de manteiga. Alguma coisa desapareceu. A minha precipitação, o pôr a Califórnia acima da aprendizagem, quebrou a confiança entre nós e, ainda antes da tempestade, o biplano nunca mais voltou a parar para me ensinar ou sequer fazer uma sugestão. Tem estado frio e sem vida, tem sido apenas uma máquina. Ao ver o familiar combustível derramar-se para dentro do familiar depósito, gostaria de ter conseguido acalmar e aproveitar o meu tempo. Mas, quanto mais perto estou de casa, mais penoso se torna para mim conduzir o biplano e a min próprio. Estou sem saber o que fazer, sinto-me varrido por um vendaval de pressa, e nada mais me interessa a não ser chegar amanhã a casa.
Outra vez o magneto. Decorridos apenas dez minutos desde a descolagem, o magneto esquerdo começa a falhar. Não há dúvida de que não é o Automático. Lá em baixo é a Casa Grande e há um aerporto voltado para o vento. O motor é que não está a pegar, está a fazer retorno de faísca, de cada vez que é preciso recorrer ao magneto esquerdo para produzir faísca nos cilindros. O magneto direito está a funcionar bem, apenas com uma ou outra falha de uma batida. É tempo de voltar a decidir, mas desta vez é mais difícil. Aterrar já num campo em que as possibilidades de assistência sejam limitadas e ficar em apuros, ou prosseguir, utilizando apenas o magneto direito?
O aeroplano não responde, é como se estivesse sentado atrás de mim a observar-me com indiferença, sem querer saber se a decisão que agora tenho de tomar pode significar segurança ou destruição. Se ao menos não tivesse pressa de chegar a casa! Seria prudente parar. Nestes últimos dias, eu e a prudência não nos temos dado lá muito bem, mas, ao fim e ao cabo, às vezes é preferível seguir as suas orientações.
Entretanto, Casa Grande vai ficando lentamente para trás. Não tenho muito dinheiro e ficaria caro, mesmo que naquele pequeno hangar houvesse as peças de que o motor precisa. Se prossigo viagem, estou a apostar que o magneto bom vai continuar assim durante as próximas trezentas milhas de deserto. Se perder a aposta, tenho de aterrar na estrada e pedir a ajuda do meu semelhante. Não é um destino tão mau ou um castigo tão grande como isso. Mas só queria saber para que tem o motor de um aeroplano dois magnetos. Para funcionar todo o dia, para funcionar toda a vida, com um só? A decisão está tomada. Vamos continuar.
Tomada a decisão, levanta-se um vento de oeste. Chegou a altura de voltar a ter paciência e, no ar, no meio do vento, reduzo a velocidade de tal modo que um automóvel solitário, rebocando uma caravana, se mantém a par e passo comigo. O preço que vou pagar por ter tomado a decisão de continuar a voar com um sistema de ignição avariado é ver-me obrigado a voar a altitude e não me permitir a proeza de voar rente ao chão para evitar o vento. O único recurso que, neste momento, me resta, é a altitude, e não posso permitir-me desperdiçá-la voando a poucas milhas por hora. Pelo menos estou a dirigir-me para oeste.
Não estou preocupado. Uma falha no motor é um tipo de problema académico neste percurso de Casa Grande para luma, porque é uma zona que conheço bem, que conheci dia após dia e mês após mês. Precisamente do outro lado daquelas mesmas Santan Mountains, paralá da minha asa direita, fica a Base da Força Aérea Williams. Imediatamente após ter acabado por adquirir o direito de usar as asas de piloto da Força Aérea, vim para esta zona para pilotar o aeroplano mais rápido que conheço, o F-86 F, cujo código era Sabrejet. Com partida destas pistas, voámos, nervosos a princípio, num aeroplano de um só lugar, em que, da primeira vez que voávamos, íamos sozinhos. Era um aeroplano tão fácil de pilotar que íamos acabar o briefing antes da descolagem ali, sobre o pavimento, e parávamos, esperávamos, abanávamos a cabeça e resmungávamos por entre dentes, certos de que nos tínhamos esquecido de alguma coisa. Pensam que tudo o que há a fazer é levar este pequeno manipulo à frente, soltar os travões e voar? Pois era exactamente o que se pensava. Depois da rotina inicial, descolávamos destas pistas para atravessarmos este mesmo deserto.
À minha esquerda, vejo umas centenas de milhas quadradas, assinaladas no mapa como Área Reservada que, de facto, é, no que se refere aos biplanos. Mas, naquela altura, Reservada significa Muito Nossa, pois era ali que voávamos para descobrir os objectivos de bombardeamento, dispostos em quadrados abertos de deserto e assinalados nos pontos de mira dos círculos das bombas. Mas o melhor de tudo para nós era a zona deserta chamada Carreira de Táctica Aplicada. A Táctica Aplicada dá ao estudante o conhecimento real do que é o apoio em atmosfera fechada. No deserto há escoltas de automóveis e camiões velhos e enferrujados, tanques à espera sobre a salva e a iúca, rotundas e plataformas para canhões. Uma vez por outra, autorizavam-nos a praticar aqui tácticas de combate, aprendendo princípios tão básicos, como: Nunca se Deve Bombardear uma Escolta Longitudinalmente; Nunca se Deve Atacar Duas Vezes da Mesma Posição; Concentra-te no Teu Disparo.
Talvez já nem existam. Se pudesse fazer silêncio, provavelmente conseguiria ouvir ainda o som dos motores e o baque dos foguetes a caírem no chão e o som de pipocas a rebentarem das metralhadoras de calibre cinquenta a dispararem. País ditoso este, dos bons velhos tempos, cheio dessa espécie rara de amigos que só se encontram quando se partilha a aventura e cada um deles confia a própria vida aos outros.
Onde estão eles, na idiossincrasia actual? Esses pilotos sui generis deixaram de aparecer diariamente ao pé de mim para me instruírem no primeiro voo, antes de o Sol nascer. Alguns dos que sobrevoaram comigo esta zona continuam a voar, mas outros não. Alguns deles continuam iguais a si próprios, outros mudaram. Um passou a agente de uma firma de importação, outro a supervisor de um armazém, outro a piloto-aviador, outro a oficial de carreira da Força Aérea. O sentimento de amizade dentro de cada um deles é facilmente posto em causa por questões triviais. Não lhes falem de rendas ou de impostos, nem lhes perguntem como faz a equipa da casa. A amizade que existe dentro de cada um de nós revela-se, antes, na acção, nas coisas importantes, como é o caso de voar suavemente com mau tempo, pedir a verificação do combustível, do oxigénio e tentar fazer mais buracos de bala no alvo do que qualquer outro amigo é capaz de fazer.
É curioso descobrir isto. Que, aqui, está a mesma pessoa, o mesmo corpo, cuja voz se ouviu uma vez no rádio, a dizer: «Olha o que estás a fazer.» E eu dava uma volta, olhava por cima da minha asa direita e via o cume isolado de uma montanha, na Primavera, com o sopé completamente castanho e seco e o vento, inaudível e solitário, a arrancar do cume em forma de navalha um farrapo branco de neve. O vento calmo sobre o cume tranquilo de uma montanha e o rasto de neve como salpicos de uma enorme vaga no meio do oceano. Ao dizer «Toma cuidado» é um amigo que se revela. Não há qualquer banalidade nestas palavras. O que elas significam é: «Toma cuidado com o nosso inimigo mortal, a montanha.» Há alturas em que as palavras são cruéis, mas há outras em que são extremamente simpáticas, ou não será assim? E preciso ter cuidado com a montanha.
Se não fossem as montanhas, o amigo que existe dentro de nós não teria a oportunidade de se revelar. Quando a encomenda e a secretária se tornam as coisas mais importantes da vida, é difícil ser-se amigo de alguém. Quando muito, o amigo que existe dentro de nós volta a revelar-se por um ou dois segundos, em momentos de angústia. Eia! Ó! Lembras-te do dia em que eu estava a chamar pelo rádio, dentro do meu cockpit, e tu ias a voar ao meu lado e pegaste no microfone para dizer: «Ó ás, estás a pensar enfiar-te por aquela montanha dentro?» Lembras-te?
Lá dentro gera-se uma excitação, que é a resposta do amigo.
Lembro-me. Não te preocupes. Lembro-me perfeitamente. Nunca mais voltamos a viver aqueles dias gloriosos, ou será que podemos? Por que razão havemos de sofrer com o reavivar da memória?
Fico arrepiado quando penso que o espírito de estar sentado a uma secretária consegue dominar o sentimento de amizade dentro de uma pessoa e que a carreira brilhante que tinha à sua frente se transformou numa calma planície. Acabaram-se as gargalhadas estrondosas a arrastar esteiras de fumaça ou a descer para atacar. Acabaram-se os rugidos furiosos de animais enjaulados por ficarmos presos em terra dias e dias por causa do nevoeiro, que nos impede de ver o outro lado da linha de combate. Ao comprador nunca acontece nada de mau nem de agradável.
A Área Reservada fica para trás e com ela apenas alguns pedaços de chumbo encrustado, revestido de cobre, sepultados na areia, que outrora tremeluziam no cano da minha espingarda. Mais à frente, outra montanha e uma cidade chamada luma. Estamos quase na nossa terra, biplano. Estamos quase a lá chegar. E espantoso como mesmo a nossa terra se torna grande. Não sei por que razão me aflora ao pensamento um dado estatístico. A grande maioria dos acidentes de aviação ocorre normalmente a vinte e cinco milhas de distância da base de um aeroplano. É uma daquelas coisas, sem dúvida insignificantes, mas que, por serem tão habilidosamente expressas, acabam por nos vir à memória.
Mas afugento facilmente o mau prenúncio, porque já não estou a vinte e cinco milhas da minha base. Estou bastante mais perto dela do que há alguns dias atrás, apesar de ficar ainda um pouco além do horizonte que tenho à minha frente.
Com o rio Colorado lá em baixo e o ar da Califórnia a assobiar à minha volta, sinto coragem para experimentar o outro magneto. E agora, após ter passado duas horas a voar com o magneto direito, verifico que o magneto esquerdo está a funcionar perfeitamente. Da última vez que o experimentei, em Casa Grande, fazia retorno de faísca e deitava baforadas de fumo negro pelo escape. Agora está dócil como o mais novinho dos gatos. Que motor mais estranho.
Estamos quase em casa, biplano. Estás a ouvir? Mais um bocado de deserto para atravessar, mais uma paragem para meter gasolina e voltas a ficar confortavelmente dentro de um hangar. O Salton Sea cintila à nossa frente e, com ele, os quadrados de terra de feltro verde, mais a sul. Aconteça o que acontecer a partir de agora, podemos pelo menos dizer que conseguimos chegar à Califórnia.
Califórnia que o é só de nome, tal como o sábado é sábado, só porque o calendário o diz. Tanto o deserto como a terra queimada pelo sol não gritam «Califórnia!» da mesma maneira que as extensas praias, as lisas montanhas douradas ou o inesperado volume da serra Nevada. Não podemos considerar-nos na Califórnia, antes de estarmos a oeste dessas montanhas.
As asas do biplano agitam-se, de repente, sem darem por isso, como se algum interruptor tivesse saltado. O crepúsculo envolve-nos de surpresa. O interruptor é, afinal, a própria serra que se projecta, tapando o sol e lançando através do deserto uma gigantesca sombra negra em forma de faca. Os faróis dos automóveis prudentes, que já me são familiares, cintilam na estrada que vai dar a Palm Springs, precipitando-se para a noite. Também a nossa noite vai ser passada em Palm Springs, aninhados na mancha cinzenta dabase de San Jacinto Mountain. Já se vê o farol do aeroporto a girar, lançando uma luz, ora verde, ora branca. Mais além, espalhadas sobre o cume de um pico que, segundo o meu mapa, se eleva a 804 pés acima do nível do mar, há nuvens tão negras como a própria montanha.
Palm Springs, aeroplano! Sede de vedetas de cinema, chefes de Estado e tubarões de empresa. Melhor do que isso é que Palm Springs está a menos de um dia de viagem até à tua própria casa, com um hangar e passeios aos domingos à tarde. Agrada-te, aeroplano?
O Parks não responde. Nem quando damos uma volta para aterrar há o menor indício de réplica.
Oaeroporto de Palm Springs é um lugar bastante reservado, onde se encontram estacionados os aeroplanos mais elitistas e mais caros do mundo. No entanto, esta manhã há qualquer coisa que não bate certa. Mesmo no fim de uma fila comprida de elegantes bimotores estacionados praticamente sobre a salva, há um velho biplano, invulgarmente sujo de óleo. Está preso ao chão por uma corda em cada ponta de asa e por outra na cauda. Debaixo da asa, quando o Sol, ainda pálido, começa a aparecer, está um saco-cama, ainda de vagos contornos, estendido sobre o pavimento frio.
Está a chover. Em Palm Springs, chove uma vez e, na pior das hipóteses, duas vezes por ano. Que instrumento de coincidência regulou a minha chegada com o Dia da Chuva? Não há mais sacos-cama espalhados pelo pavimento do aeroporto, pelo que sou forçado a admitir que este é o único.
A chuva começa por ser ligeira e cai de nuvens descontínuas. Começa, também, por ser um pano de fundo da silhueta branca, em seco, do biplano, e estou deitado ao longo da asa esquerda da silhueta. A chuva continua, tamborilando primeiro na asa superior, para ressoar na tela da asa inferior. O som é agradável e fico calmamente a escutá-lo. A San Jacinto Mountain olha-me ameaçadoramente, ao mesmo tempo que as nuvens salpicam o seu pico altaneiro. Hoje vou atravessar-te, San Jacinto, e depois é sempre a descer até à minha casa. São, no máximo, duas horas de voo daqui até lá e vou descobrir qual é a sensação de voltar a dormir numa cama.
Continua a chover, e a humidade assume um esplendor de pequeníssima profundidade. Deitado agora com a cabeça no chão e com o olho mais baixo aberto, vejo uma muralha de água a avançar a um dezasseis avos de polegada de altura. A chuva torna-se mais abundante e o tamborilar e o ressoar nas minhas asas vão parar em qualquer segundo.
Afinal, não. A muralha de água avança lentamente em direcção ao meu seco santuário. O pavimento sedento bebe, mas não lhe serve de nada. Mais gotas se precipitam, avolumando a massa de água. Aos saltos e ressaltos, a muralha avança. Se tivesse menos de um milímetro de altura, seria um espectáculo horrivelmente tumultuoso. Galhos e ramos de árvores são atirados contra a muralha, as ondas espumam e levantam-se em crista e o rugido que produzem ao avançar ouve-se num raio de muitas polegadas. É um espectáculo assustador, arrepiante, o da água a precipitar-se, varrendo tudo pelo caminho. A única razão por que não corro a gritar à sua frente deve-se à perspectiva sob que a vejo, à capacidade de me tornar tão grande que a água fica reduzida a nada e se torna inofensiva. Enquanto observo isto, pergunto-me se acontecerá o mesmo com todas as coisas temíveis. Será que conseguimos elevar-nos acima delas a tal ponto que deixem de nos meter medo? Enquanto me interrogo, sinto-nme esboçar, por um segundo, um sorriso débil e cansado. E possível que o meu amigo já esteja outra vez acordado, que tenha voltado por instantes para me dar outra lição.
A Segunda Fase da Lição da Água a Avançar tem a ver com o facto de, pondo de parte a perspectiva, ser impossível ignorar a questão. Mesmo que, de um momento para o outro, não seja mais do que a rodagem de um filme sobre o orvalho e não um dilúvio com relâmpagos no deserto, pode, ainda assim, ser incómodo e desconfortável, a menos que eu resolva o problema rapidamente. A minha silhueta em seco vai-se estreitando à medida que a chuva se prolonga e, salvo se conseguir arranjar maneira de deter o avanço da água ou decidir que, ao fim e ao cabo, os sacos-cama molhados não são tão maus como isso, vou ser obrigado a fugir daqui.
Com a barba por fazer, todo sujo de óleo, com os cabelos em pé como o pior dos pilotos de voos de exibição, pego no meu saco-cama e corro a abrigar-me no luxuoso escritório e na sala de espera do terminal aéreo. Será que um bom piloto de voos de exibição tinha ficado molhado? E a pergunta que faço enquanto corro à chuva. Evidentemente que não. Um verdadeiro piloto de voos de exibição teria subido para o cockpit, protegido pelo seu impermeável, e teria voltado a adormecer imediatamente. Ah! Bom! Leva tempo a aprender.
Junto de uma das paredes da sala deserta há um telefone, com linha directa para os serviços de meteorologia. E uma sensação estranha a de voltar a ter um telefone na mão. Do outro lado da linha vem uma voz a oferecer os seus préstimos.
- Estou em Palm Springs. Quero ir para Long Beach/Los Angeles. Como está o tempo por esta rota? Devia ter dito «por este desfiladeiro». Quase todos os pilotos que se dirigem para o Sul da Califórnia têm de atravessar o gigantesco estreito entre as montanhas de San Jacinto e de San Gorgonio. Num dia de muito vento, há que contar com turbulência neste estreito, apesar de muitos pilotos brevetados há pouco tempo terem exagerado de tal forma os seus perigos que os pilotos mais antigos começaram a acreditar tratar-se de um lugar realmente perigoso.
- É impossível passar pelo estreito.
Mas por que razão são os meteorologistas tão presunçosos quando está mau tempo? Será, para eles, uma maneira de porem os pilotos no seu lugar? Será, para eles, uma forma de fazerem recuar, uma vez por outra, aqueles que consideram como uns pobres diabos arrogantes? «A zona interdita está carregada de nuvens a duzentos pés de altitude, com uma milha de visibilidade à chuva; é provável que o tempo não se altere significativamente ao longo do dia.»
Não vai melhorar! Isso é que era bom! As probabilidades de o tempo se manter assim durante todo o dia são exactamente as mesmas que Palm Springs tem de ficar inundada na próxima meia hora.
-E quanto ao percurso por Borego, Julian ou San Diego?
- Não temos previsões de tempo estritamente para os desfiladeiros. San Diego está carregado de nuvens a três mil pés, e há chuva ligeira.
O melhor é experimentar e ver.
- Como está o tempo em Los Angeles? -Los Angeles... deixe-me ver... em Los Angeles, o céu está carregado de nuvens dispersas a mil e quinhentos pés. A previsão é a de que o tempo vai continuar sem alterações durante todo o dia. A propósito, segundo o relato de um piloto, o estreito foi fechado e há grande turbulência.
- Obrigado.
Apanha-me antes de eu desligar, solicitando o número de matrícula do meu aeroplano. Sempre a fazer registos, mas sem dúvida por boas razões.
Desde que consiga passar para o outro lado das montanhas, não há mais problemas. O tempo não está completamente bom, mas permite-me descobrir o percurso. A zona de passagem interdita fica a meio do estreito, e as previsões do tempo não são as melhores. Pode ser que estas previsões já estejam ultrapassadas há horas. Não posso ficar muito tempo à espera que ele melhore, e sou capaz de experimentar a Zona Interdita antes de descer pela cadeia montanhosa, metendo o nariz em cada desfiladeiro, durante cem milhas. Há-de haver uma maneira de fazer a travessia.
Vinte minutos mais tarde, o biplano e eu contornamos San Jacinto e apontamos para o estreito. De facto, não tem nada bom aspecto. E como se alguém tivesse feito do sul da Califórnia um quarto de dormir temporário e tivesse pendurado um cobertor cinzento sujo entre ele e o deserto, para ficar em privacidade. Se conseguir chegar à Zona Interdita, sou capaz de parar e esperar que o tempo melhore.
Lá em baixo, na estrada, o tráfego avança despreocupadamente, apesar de o pavimento estar lustroso e escorregadio com a chuva. Algumas gotas de chuva sujam ainda mais o pára-brisas dianteiro do biplano. Já escolhi o lugar para aterrar no caso de o motor parar à chuva, mas ele não esmorece. Provavelmente, o biplano também está com pressa. Chove a cântaros, mas descubro que quem voa com chuva torrencial num aeroplano de cockpit aberto não se molha. Da última vez que choveu torrencialmente, nem me apercebi disso. A chuva não cai propriamente sobre mim, só me bate de frente e faz ricochete no pára-brisas, que a faz salpicar na minha cabeça. Para me molhar, era preciso que metesse a cabeça à volta de um dos painéis de vidro.
Tem piada. Nem mesmo assim sinto estar a molhar-me. É como se me deitassem arroz bom e seco à cara a cem milhas por hora. Só quando volto a meter a cabeça dentro do cockpit e levo uma mão sem luva ao capacete é que percebo que ele está molhado. A chuva limpa e dá brilho aos meus óculos.
Alguns minutos depois de ter começado a chover, sinto a primeira turbulência. Ouvi muitas vezes descreverem a turbulência como um punho gigante que deita violentamente abaixo qualquer aeroplano. Até este momento, nunca a tinha sentido realmente como tal num aeroplano pequeno como este. O punho tem precisamente o tamanho de um biplano e oscila para baixo na extremidade de um braço muito comprido. Bate com tal violência no biplano que me projecta contra o cinto de segurança e me obriga a agarrar-me com força à alavanca de direcção para evitar que a minha mão salte dela. Que estranha atmosfera é esta! Não é aquele batertonstante do vento que se agita em espiral e que é de esperar quando ele atravessa lugares rochosos, mas um bater suave... suave e bum! Outra vez suave... suave... Bum! A chuva engrossa, transformando-se em mantos lacrimosos a caírem sobre a terra. À nossa frente, o céu é como água em estado sólido. E impossível atravessar.
Voltamos para trás, mas não propriamente desencorajados, porque não estávamos à espera de conseguir ultrapassar o primeiro obstáculo da manhã.
Sempre que me afasto do mau tempo dentro de um aeroplano que não está equipado para voar sem visibilidade, sinto-me completamente hipócrita. Mas, nestas circunstâncias, é o que se deve fazer. Dizem as estatísticas que a causa n.91 dos acidentes fatais na aviação particular se deve ao facto de o piloto se expor ao mau tempo, ao facto de ele se escapar sem se servir de instrumentos. Eu cá insisto em voar com mau tempo, mas fazendo uso dos melhores instrumentos, digo hipocritamente, porque o que faço é reservar-me sempre a possibilidade de voltar para trás. O biplano, com os instrumentos que tem e que, através de um compasso desequilibrado, apenas dão uma grosseira aproximação da altitude e uma nebulosa e vaga ideia de direcção, não está preparado para voar em qualquer circunstância. Seja ela qual for. Se tivesse impreterivelmente de o fazer, seria capaz de atravessar as nuvens, tirando as mãos da alavanca de comando e mantendo o W do compasso provavelmente só com o leme de direcção. Mas só em último recurso e com terreno plano em baixo e a certeza de que o tecto absoluto era pelo menos de mil pés.
Há quem diga que é possível fazer parafuso através das nuvens e seria capaz de concordar com eles; seria um bom método. Mas tenho ouvido dizer que, com alguns aeroplanos antigos, o parafuso, ao fim de três ou quatro rotações, se transforma num parafuso horizontal e a partir dele não há outra solução a não ser saltar de pára-quedas. Talvez seja boato e, portanto, falso. Mas para min o perigo é que eu não sei. Não é o parafuso horizontal, mas o medo que tenho dele, que me põe à distância relativamente a um procedimento de emergência, de outro modo prático e eficaz. E muito mais fácil evitar o mau tempo.
Começamos por contornar San Jacinto e, aguentando a turbulência à sua volta, retiramos, cheios de integridade, do estreito. Que belo exemplo estamos a dar aos pilotos mais novos. Aqui está um piloto que já voou muitas vezes, durante horas consecutivas e com nuvens cerradas, só com o auxílio de instrumentos, a bater agora em retirada, só porque há um pouco de nevoeiro a toldar o percurso. Que belo exemplo eu sou. Que prudência. Assim, ainda chego a velhinho. E pena que ninguém esteja a ver.
Viramos para sul, seguindo a orla oriental das montanhas e sobrevoando os quadrados verde-brilhantes que a irrigação lavrou na areia. Subimos. Levamos muito tempo a ganhar altitude. Jogando o máximo possível com as correntes e os ventos ascendentes, apenas consigo subir ao nível dos picos mais baixos; a pouco mais de oito mil pés, onde volta a estar um frio de gelo. Mas pelo menos aqui, quando já não conseguir suportar o frio, basta-me descer um pouco para voltar a aquecer.
Nem sequer vale a pena tentar o estreito de Borego. É uma garganta comprida e estreita que atravessa diagonalmente as montanhas e é emparedada apenas num curto troço no sentido do comprimento pelo mesmo cobertor cinzento que cobre o estreito de San Jacinto.
Um pouco mais a sul, e da terceira vez é que é. É uma região mais agreste, mais montanhosa, mas pelo menos aqui não há tanto nevoeiro. Viro em Julian, em direcção a uma estreita fenda na montanha, e sigo uma estrada coleante.
Pela fenda sopra um vento de frente, enquanto me dirijo para oeste. O vento aplana a relva ao longo da beira da estrada e o traço contínuo arrasta-se relutantemente pela minha asa. A esta altitude, deve estar a soprar a cinquenta milhas por hora. Fico com uma sensação de pavor, de intranquilidade, de não ser aqui desejado, é como se estivesse a ser atraído para a fenda para que qualquer dragão esfomeado porventura lá dentro fique com a sua conta de motor quente e longarinas partidas. Voamos, voamos sempre e lutamos e voamos contra o vento, até que a fenda fica por nossa conta. Atravessamos para uma região de vales pouco profundos e pacíficas quintas verdes nos prados montanhosos. Olha ali para baixo. A relva, mesmo a que ainda está a crescer, é como prata aplanada pelo vento, é como se ele a passasse a ferro no chão. Agora à superfície, o vento desloca-se a umas cinquenta milhas por hora!
É obra, mas não tenpiada nenhuma. Só tinha piada se o vento fosse de cauda. À frente, as nuvens observam-me e sorriem de esguelha. A única forma de sair do vale é seguir a estrada, mas a neblina transforma-se em nevoeiro pegado à estrada como um enorme haltere indistinto que ninguém consegue levantar. É triste. Lutámos nós tanto para chegar aqui...! Talvez possamos aterrar. Para aterrarmos aqui, de certeza que vamos ter de esperar muito até que as nuvens desapareçam e possamos continuar esta tarde, em direcção a oeste. Os prados parecem bons para aterrar. Chove ligeiramente, mas também faz sol. De repente, combinam-se os dois para formarem na asa direita um arco-íris de círculo completo brilhante, realmente tão brilhante que quase se torna opaco no seu esplendor. Normalmente o arco-íris é um espectáculo maravilhoso, digno de admiração, mas ainda tenho uma polegada a conquistar ao vento e só consigo tirar dele, com os meus olhos, simples instantâneos; espero que, mais tarde, quando a luta com o vento tiver terminado, seja capaz de me lembrar do arco-íris pelo que ele é e fresco e brilhante como é.
Apesar do que avancei, preciso de aterrar. Tomada esta decisão, o pequeno biplano desce do arco-íris para a relva verde molhada do prado. Ali à frente há um bom lugar para aterrar, que merece, por isso, um exame mais atento. A relva é mais alta do que parecia. E está molhada. Talvez esteja toda enlameada por baixo, mas estes pneus de alta pressão, duros e estreitos, podem ficar atolados até ao eixo das rodas. Olha, ali há uma vaca. Ouvi dizer que as vacas comiam a tela dos aeroplanos antigos. Há qualquer coisa no lubrificante que lhes agrada.
Tanto como esse prado.
Nas proximidades de um casal, há outro campo a experimentar. Apesar das árvores, parece macio e suave. Era capaz de ficar a pairar por cima das copas das árvores. E se o vento parasse? Nunca mais de lá saía. Lembra-te de que este vale tem quatro mil pés de profundidade e o ar está mais rarefeito do que é costume. A única maneira de sair de lá era com este vento ciclónico. Com o dia quente ou sem vento, precisava do quádruplo do espaço para conseguir voltar a subir. Dois campos, dois vetos. De qualquer forma, ainda me resta uma possibilidade; talvez a passagem para San Diego, lá em baixo, pela fronteira mexicana, esteja aberta.
Posta a aterragem de parte, transformamos o vento de frente em vento de cauda e irrompemos dos vales profundos de Julian como um tufo de trigo de uma espingarda de cereal.
Ser sacudido como um planador de brincar dá cabo dos nervos. Última possibilidade, subir. San Diego. De novo para sul, através de outras tantas milhas de deserto, sem pensar em mais nada a não ser na desolação que seria ter de aterrar aqui e na enorme extensão de terra subaproveitada que temos neste país. Penso na série de casas que podiam ser construídas nesta pequena estensão de deserto. O que há agora a fazer é aliciar alguém para vir viver para aqui.
Uma última estrada, a que vai dar a San Diego. Só tenho de a seguir como se fosse um automóvel para chegar a San
Diego; a partir daí, é fácil subir pela costa até casa. Eu sou um automóvel. Eu sou um automóvel.
Fazemos uma inclinação lateral para seguirmos a estrada. O vento é uma coisa viva que não gosta nada do biplano. Está sempre a dar-nos socos, a picar-nos, a bater-nos, como se sentisse uma necessidade premente de aperfeiçoar o seu estilo e o seu ritmo. Agarro-me com toda a força à alavanca de comando. Pode ser que estejamos a avançar, mas o cume do monte à nossa esquerda não se move lá muito depressa. Ficou no mesmo sítio dois minutos. Verifico a estrada.
Valha-nos Deus! Estamos a andar para trás! Que sensação estonteante. É aprimeira vez que assisto auma coisa destas do cockpit de um aeroplano. Tenho de me agarrar com mais força ainda à alavanca de comando. Para voar, um aeroplano tem de se deslocar pelo ar, o que significa quase sempre que se desloca igualmente sobre o solo. Os traços contínuos da estrada passam agora por mim, e tenho aquela estranha impressão que tive ao sobrevoar Odessa e que é a mesma que tenho sempre que subo a um escadote ou que estou num edifício alto e olho para baixo. É como se, nos poucos segundos que se seguem, estivesse na iminência de dar uma enorme queda. A agulha da velocidade do ar fixou-se nas oitenta milhas por hora. O vento bate-me no nariz, pelo menos a oitenta e cinco milhas por hora. Pura e simplesmente, o biplano não consegue deslocar-se para oeste. Faça eu o que fizer, não vou conseguir deslocá-lo em direcção ao oceano Pacífico.
Isto está a tornar-se ridículo. Fazemos uma profunda inclinação lateral para a direita, para fugirmos ao vento, mas apenas colho um nadinha de consolação ao ver a estrada passar por mim a gritar quando viro para leste. Com o vento de cauda, a minha velocidade absoluta deve ser de cento e oitenta milhas por hora. Se conseguisse mantê-la, imporia à Carolina do Norte um novo recorde de velocidade em biplano. Mas sou suficientemente prudente para não acreditar que este vento se vai manter e sei que, imediatamente antes de atravessar a fronteira da Carolina do Sul para a Carolina do Norte, o vento vai passar a ser um vento de frente a oitenta milhas por hora e que vou ficar suspenso no ar a cem jardas da meta, sem ser capaz de lá chegar. Está um dia maravilhoso para jogar, com um aeroplano, todas as espécies de jogos improváveis. Hoje posso aterrar o biplano de costas e descolar assim mesmo. Posso voar de lado, posso ser, de facto, mais manobrável que um helicóptero. Mas não me apetece brincar. Quero apenas cumprir aquilo que devia ser a simples tarefa de chegar ao outro lado das montanhas. Se mudasse de rumo e andasse para trás e para diante, como um barco à vela no céu, é possível que conseguisse chegar a San Diego. Mas não vou fazer isso. Mudar de rumo significaria resignar-me e ser subserviente, o que não condiz com o carácter de um aeroplano. Há limites para tudo.
A única técnica adequada ao carácter de um aeroplano é combater as montanhas em cada polegada de terreno que lhes ganhe e, se, por um instante que seja, provarem que são mais fortes, retirar, descansar e voltar a combatê-las. Porque, quando for a vez de a montanha lutar, não é correcto procurarmos, por meios astutos e desleais, esgueirar-nos do seu poder.
Não há qualquer equívoco no insucesso que tivemos nos estreitos mais pequenos das montanhas. Querem, com isso, deixar claro que o adversário à minha altura é o gigante San Jacinto, que domina o estreito da Zona Interdita.
Queimei um depósito cheio de combustível ao lutar para atravessar as montanhas e não cheguei a lado nenhum. Mais precisamente, cheguei ao Aeroporto de Borego Springs, com uma pista de cimento plantada no meio da salva e nuvens de pó. Ao circular sobre a pista, vejo a manga de vento a sobressair na pista. Ora se agita para indicar a faixa de asfalto lá em baixo, ora volta a ficar transversal. Aterrar naquela pista com um vento de rajada irregular seria assassinar o biplano. Mas preciso de aterrar, porque já não tenho combustível suficiente para chegar a Palm Springs. Vou aterrar no deserto, próximo do Aeroporto de Borego.
Ao ver a terra seca, desisto. O terreno é muito acidentado. Se as rodas se enfiam por uma duna escarpada, em menos de um segundo estamos virados ao contrário e só com muita sorte é que conseguiremos escapar com menos de quarenta nervuras partidas, uma hélice torcida e um motor cheio de areia e salva. Tal como se aterrássemos no deserto.
A própria área cultivada do aeroporto é de terra batida e areia, salpicada de salvas enormes. Dirijo o biplano para baixo, aproveitando a agitação do vento, e sobrevoo a manga ao mesmo tempo que observo a área cultivada. Antigamente era plana. Devem ter sido os tractores que a aplanaram quando estavam a fazer a pista. A vegetação eleva-se a três pés, em alguns sítios mesmo a quatro pés de altura sobre ela. Posso aterrar na navegação o mais lentamente possível com o vento, esperando que não haja tubos nem fossos no chão. Porque, se houver, ainda é pior que o verdadeiro deserto. Sobrevoamos mais duas passagens, inspeccionando a vegetação para tentarmos ver o tipo de solo por debaixo dela.
Na bomba de gasolina está um homem baixo, de pé, vestido com um macacão azul, a observar-nos. Que abismo existe entre nós! Ele está seguro e contente como deve ter razão para estar e, se quiser, até pode dormir encostado à bomba. Mas a mil pés, a cem pés de altitude, o Parks e eu estamos em apuros. O meu indicador de combustível de cortiça e arame mostra que o depósito está vazio. Metemo-nos nestes trabalhos e temos de ser nós próprios a sair deles. O vento sopra em rajada num extenso ângulo em relação à pista, e uma aterragem no matagal é para nós o menor dos males. Com alguma sorte, conseguiremos sair com alguns arranhões apenas.
Uma última subida de uns cem pés de altitude útil, acelerador para trás, voltar para o vento e baixar em direcção ao matagal. Se o vento mudasse de repente, era preciso mais do que sorte.
O Parks assenta como um caracol num pára-quedas de cor viva, mal se movendo pelo chão. O matagal por debaixo de nós é alto e castanho e eu esforço-me por evitar empurrar o acelerador para a frente e voltar a fugir, de repente, para o céu. Ao roçarmos pela salva é que percebo que não vamos assim tão devagar. Alavanca de direcção atrás com força, bem agarrado ao acelerador e, com um estrondo e um ruído ressonante, sulcamos um mar, à altura da nossa cintura, de galhos de contornos vagos e quebradiços. Ouve-se um som de bater de dentes à nossa volta, como um incêndio a alastrar por uma floresta, e os galhos irrompem em remoinho da hélice, espalhando-se num grande arco para girarem sobre a asa superior e choverem no cockpit. A asa inferior corta-os como uma foice, retalhando-os, e deixando-os caídos numa extensa fiada atrás de nós. Após abrirmos caminho quase até à beira do asfalto, somos detidos por um bocado de pó a agitar-se ao vento, que continua a lançar da hélice galhos recentemente quebrados. Com o acelerador para a frente, forçamos ameaçadoramente o caminho para a pista e viramos, para lentamente seguirmos o acesso à bomba de gasolina.
- Isso é que foi uma aterragem! - O homem levanta a mangueira e procura o óleo de sessenta octanas.
- Aterro sempre da mesma maneira.
-Não estava a perceber bem o que estava a fazer. Não me lembro de ter visto alguma vez alguém a aterrar no matagal como você. E uma violência para o aeroplano, não é?
- Está preparado para isso.
- Creio que esta noite vai pernoitar ao vento.
- Não. Há aqui ao pé alguma máquina de rebuçados, amendoins ou qualquer coisa do género?
- Sim, temos uma máquina de rebuçados. Disse que não ia ficar?
- Não.
- Para onde vai?
- Los Angeles.
- Ainda falta muito, não falta? Cem milhas? Para um biplano velho como este...
- Aí tem razão. Cem milhas é muito, mesmo muito. Mas não me assusto e, quando puxo o manipulo do selector de Amendoins, o reflexo oleoso no espelho está a sorrir.
A quinze minutos estamos outra vez no ar, batendo na crista das ondas ao dirigirmo-nos para norte com o vento. O cinto de segurança está bem apertado, e o nariz prateado aponta em direcção ao pico oculto de San Jacinto.
Pois muito bem, desta vez é que vai ser. Agora passo bem sem a minha integridade. Nem que tenha de te combater durante o dia inteiro para chegar àquela pista na Zona Interdita. Hoje não preciso de esperar que o tempo levante. Vou lutar contigo até o depósito de combustível voltar a esvaziar-se, depois encho-o outra vez para continuar a lutar durante mais umas cinco horas. Mas desde já te garanto, montanha, que hoje vou conseguir atravessar esse estreito.
San Jacinto parece não se intimidar com as minhas palavras.
Sinto-me como um cavaleiro, com a lança em riste e as plumas a voarem, a galope para o desfiladeiro. É uma longa galopada e, ao chegarmos ao local do torneio, já consumimos o combustível de uma hora. Mas ainda há de sobra para chegarmos à Zona Interdita. Vem daí comigo, meu pequeno corcel. Primeiro a lança, depois a clava e a seguir o sabre.
A clava da montanha bate-nos primeiro e derruba-nos tão violentamente que o combustível salta do carburador, o motor pára por um inteiro segundo e a minha mão salta da alavanca de direcção. Depois volta a calma.
San Jacinto é impenetrável, envolto no seu nevoeiro olímpico. Ao fim de alguns golpes de clava, a montanha oscila. Partida a lança, é chegada a altura de aplicar o meu sabre.
Com outra explosão de ar violenta sobre nós, o motor pára pela segunda vez e agarro-me com ambas as mãos à alavanca de direcção. Estamos outra vez mergulhados em água e gotas de chuva que me chicoteiam a cabeça como se fosse chumbo grosso. Não temos medo, montanha.
Havemos de passar a Zona Interdita, nem que tenhamos de aterrar na estrada.
Em resposta, vem outro golpe da clava, como se a montanha precisasse do tempo entre os vários golpes para fazer oscilar aquela coisa de ferro giratória bem acima da sua cabeça, para ganhar mais força. Com a força com que a lança, sou projectado contra o cinto de segurança, as minhas botas saltam dos pedais do leme da direcção e vejo tudo esbatido à minha volta quando a minha cabeça se projecta para trás. E a Zona Interdita nem sequer está à vista. Ainda consegues aguentar isto, aeroplano? Hoje estou a exigir demasiado de ti, e nem sequer verifiquei as tuas longarinas e as tuas juntas.
Se tu aguentares, eu aguento contigo, piloto.
As palavras estalam-me na cabeça como se a clava as tivesse empurrado para lá. O meu aeroplano está de volta! Curioso momento este! Já não estou alutar sozinho, mas com a ajuda do meu aeroplano. E, no meio da luta, uma lição. Enquanto o piloto acreditar na luta e continuar a travá-la, o aeroplano combaterá ao seu lado. Basta-lhe pensar que o aeroplano falhou ou não tarda a falhar para imediatamente abrir as portas ao desastre. Se não se confiar num aeroplano, nunca se pode vir a ser um piloto.
Oiço outra vez a clava bater no biplano. Acima do ruído do vento, do motor e da chuva, oiço o impacte violento de um grande golpe.
Mas agora adiante, adiante! Uma pista brilhante e escorregadia jaz agora à chuva. Em letras brancas ao fundo dela está escrito Banning. Vem cá, meu amiguinho, estamos quase a ganhar. Dois golpes de clava imediatamente um a seguir ao outro, que quase nos viram ao contrário, e não me surpreenderia se, ao próximo golpe, as longarinas começassem a partir. Mas tenho de confiar no aeroplano. Há muito tempo que perdi o meu sabre, e agora combatemos apenas com as mãos. Só mais um minuto...
E já conquistámos Banning. Agora podemos virar para aterrar e descansar.
Mas olha ali para a frente. As nuvens levantaram de repente. Há luz entre o sopé da montanha e as nuvens. Agora é só atravessar aquela fenda, e tenho a certeza de que a luta acabou.
Banning desaparece na chuva lentamente atrás de nós.
E uma imprudência fazer isto. Bem podíamos ter ficado no aeroporto até o tempo desanuviar. Ganhaste a luta, podias regozijar-te com este exemplo de mau juízo, sem lhe acrescentar outro. Se essa fenda se fecha agora à tua frente, para onde vais, com Banning lá para trás? Dizem que noventa por cento dos acidentes se dão a vinte e cinco milhas do destino.
Tem calma. Cuidado. Vou aterrar naqueles campos lá em baixo, porque com este vento não vou longe. Agora tem calma.
- De momento, na galeria do dissidente, está tudo calmo. É a calma de quem exprime em pensamento a forma mais vingativa de dizer «eu bem te disse».
A clava já não nos bate com tanta firmeza e o motor já não pára com a sua violência. Estamos a uma milha da abertura entre as nuvens e a montanha. Se a aberta continuar por mais um minuto e meio, conseguimos atravessar. Talvez haja uns trinta pés de espaço livre. A clava olha de relance e desfere um golpe sobre o biplano, fazendo-o inclinar.
Ao recuperar, as rodas fustigam o cume da montanha, guinchamos ao passar a fenda e fugimos rapidamente da chuva negra. Instantaneamente. Num abrir e fechar de olhos. Quem quer que tenha comandado as operações, fez um trabalho magnífico, tão bom que ninguém, à excepção do piloto, vai acreditar que, ao atravessarmos a montanha, a terra se estendeu debaixo de nós.
Adiante, as nuvens rebentaram e, através delas, os raios dourados do sol perscrutam como dardos brilhantes lançados para a terra. Vem-me à memória um excerto de um hino antigo: «... do nevoeiro e da sombra para a claridade da Verdade».
O dia voltou a ter cor. A da luz do Sol. Até este momento não sabia o que ela significava. Dá vida e brilho à atmosfera e à terra por debaixo dela. É brilhante. E quente. Transforma a terra em esmeralda e os lagos no azul-escuro transparente de um céu lavado. Torna as nuvens tão brancas que somos obrigados a semicerrar os olhos, mesmo por detrás dos óculos escuros.
Se as pessoas que trabalham lá em baixo, nos campos verdes, pudessem estar atentas, ouviriam uma vozinha cantando lá em cima, ao vento alto como um eucalipto, à mistura com o som do motor deste pequeno biplano vermelho e amarelo. Já não vale a pena ter pressa.
Por debaixo de nós já deslizam os primeiros edifícios de Los Angeles e os milhares dos seus subúrbios. Como é habitual, subimos. Se aterrássemos agora, não estávamos sozinhos. Se o motor parasse neste momento, aterrávamos no corte de golfe da cidade. O parque de estacionamento da Disneylândia é suficientemente grande para a aterragem de aviões de transporte. E ali é a base de betão do rio de Los Angeles.
Mas o motor não vai parar, e se o biplano estiver ansioso por conhecer a sua nova casa e o seu novo hangar não vai ter paciência para avarias. «E impossível aborrecerem-se com um motor Wright», costumavam dizer os pilotos dos voos de exibição, e é o que realmente acontece. Depois de ter pregado as suas partidinhas inofensivas, o motor Whirlwind ri-se agora para nós e prova a verdade daquela afirmação. Não nos demos mal um com o outro.
Damos uma última volta para entrarmos numa pista com muito tráfego. Uma última pista inclina-se por debaixo de nós, emergindo da cidade. Aeroporto de Compton. Estamos em casa. Percorremos duas mil e setecentas milhas do país, e agora, com o óleo a sair do coupe-vent prateado, pó molhado a soltar-se de debaixo das nossas rodas altas, o passado a ajustar-se suavemente ao presente, a nossa viagem chegou ao fim. Fomos atirados pelas pistas, gelámos no ar, fomos batidos pela areia, ficámos encharcados com a chuva, fomos açoitados pelos ventos montanhosos, fustigados pela salva quebradiça, andámos para trás e para a frente no tempo, como um pássaro de asas brilhantes, e finalmente estamos em casa. Terá valido a pena? É uma uma boa pergunta. Mas duvido muito de que a mania dos biplanos de corta-mato invada a nação.
Rolamos lentamente para o hangar, fazendo ressoar o seu enorme e pesado portão, fechado aos sons de uma época moderna agitada.
Com as milhas, a areia, a chuva e os anos, aprendemos um pouco de nós próprios, mas é uma diminuta fracção de conhecimento da história de um homem e de um velho biplano e do que significam um para o outro. Por fim, na súbita tranquilidade de um hangar escuro, o homem e o biplano a sós um com o outro, encontramos a resposta à nossa viagem. Quatro simples palavras. Mas valeu a pena.
Richard Back
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















