



Biblio VT




Chyna Shepherd não teve uma infância feliz. De uma vida feita de violência e tragédia ela parece ter trazido apenas traumas, que aos vinte e seis anos pensa ter superado. Mas essa experiência lhe ensinou outra coisa. Ela aprendeu a sobreviver.
Uma noite, hospedada na casa de uma amiga, ela percebe que alguma coisa está errada. Um estranho invade a casa, e Chyna se vê envolvida em um turbilhão de acontecimentos que não pode controlar. O nome do estranho é Edgler Foreman Vess, m homem que se dedica a viver com intensidade. E isso, para ele, significa matar. Vess absorve a beleza com sentidos aguçados, sente intensamente... e destrói calmo e preciso, absorve a morte e o horror que provoca.
Quando percebe que todos na casa estão mortos, o primeiro impulso de Chyna é sobreviver. Esconde-se. Foge. Mas então descobre que há uma próxima vítima, em outro lugar, uma menina inocente correndo o mesmo perigo. Com um misto de pavor e coragem, lança-se então em perseguição ao hábil e frio assassino, um psicopata que já matou muitos e vai continuar matando, a menos que ela faça alguma coisa. Cada decisão, agora, passa a significar vida ou morte, em um jogo perigoso para o qual Chyna pode não estar preparada.
Em Intensidade, Dean Koontz foge a todos os clichês do suspense, construindo uma obra física e emocionalmente realista. Em vinte e quatro horas lancinantes de drama e tensão, coloca frente a frente dois personagens que exigem nossa atenção a cada momento. Alternando-se como centro da ação e como caça e caçador, Chyna Shepherd e Edgler Vess travam um conflito que ultrapassa os limites do suspense, desnudando o poder de cada pessoa de influir no mundo ao redor, o poder de fazer o bem... ou o mal.
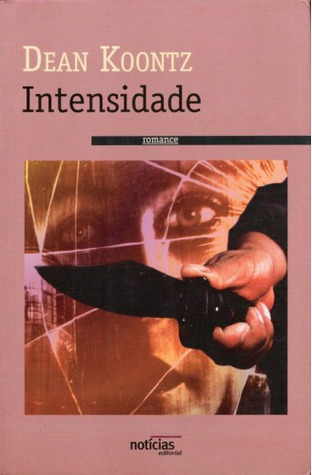
O sol vermelho se equilibra no cume das montanhas, e sob a luz do fim da tarde os contrafortes parecem estar em chamas. Uma brisa fria sopra do alto e ondula a relva alta e seca, que desce como ondas douradas pelas encostas para o vale fértil e ensombreado.
Ele pára na relva que se eleva até seus joelhos, as mãos nos bolsos do casaco de brim, observando os vinhedos lá embaixo. As videiras foram podadas durante o inverno. A nova estação de crescimento apenas começou. A colorida mostarda silvestre que floresceu entre as fileiras durante os meses mais frios foi cortada e o restolho arado. A terra é escura e fértil.
Os vinhedos cercam um estábulo, diversas dependências e um bangalô para o caseiro. Exceto pelo estábulo, a maior estrutura é a casa vitoriana dos proprietários, com suas cumeeiras, trapeiras, ornamentos de madeira sob os beirais, um frontão triangular trabalhado sobre os degraus da varanda.
Paul e Sarah Templeton residem na casa o ano todo, e a filha Laura vem de vez em quando de San Francisco, onde cursa a universidade. Estaria ali no fim de semana.
Sonhador, ele contempla uma imagem mental do rosto de Laura, detalhada como numa fotografia. Curiosamente, as feições perfeitas da moça o fazem pensar em cachos suculentos e açucarados de pinot noir e grenache, as peles dos frutos purpúreas e translúcidas. Ele é capaz até sentir o sabor das uvas fantasmas, quando as imagina partindo-se entre seus dentes.
Ao mergulhar lentamente por trás das montanhas, o sol irradia uma luz tão colorida e firme que a terra tocada por ela parece tingir-se para sempre. A relva também se torna vermelha, não mais como um incêndio sem chamas, mas uma maré vermelha que banha seus joelhos.
Ele dá as costas à casa e ao vinhedo. Saboreia o gosto cada vez mais forte das uvas e caminha para o oeste, por entre as sombras projetadas pelos cumes altos e cobertos de árvores.
Consegue sentir o cheiro dos pequenos animais das campinas encolhendo-se assustados nas tocas. Ouve o sussurro das penas cortando o vento quando um falcão caçador circula pelo céu, dezenas de metros acima de sua cabeça, e sente o brilho frio de estrelas ainda invisíveis.
No estranho mar de luz vermelha tremeluzente, as sombras negras das árvores dançavam no pára-brisa.
Na sinuosa estrada asfaltada de pista única, Laura Templeton guiava o Mustang com uma habilidade que Chyna admirava, embora achasse que iam depressa demais.
— Você tem um pé pesado — comentou Chyna. Laura sorriu.
— Melhor do que um traseiro achatado. — Vai acabar nos matando.
— Mamãe não gosta que ninguém chegue atrasado para o jantar.
— Chegarmos atrasadas é melhor do que chegarmos mortas para o jantar.
— Não conhece minha mãe. Ela é rigorosa com suas regras. -— A patrulha rodoviária também.
Laura soltou uma risada.
— Às vezes você se parece com ela.
— Com quem?
— Minha mãe.
Segurando-se enquanto Laura fazia uma curva a toda velocidade, Chyna murmurou:
— Pelo menos uma de nós tem de ser uma adulta responsável.
— Há momentos em que não consigo acreditar que você é apenas três anos mais velha do que eu — disse Laura, em tom afetuoso. — Vinte e seis anos, hem? Tem certeza de que não tem cento e vinte e seis?
— Sou antiga.
Haviam deixado San Francisco sob um céu azul, aproveitando uma pausa de quatro dias nas aulas na Universidade da Califórnia, onde na primavera receberiam o diploma de psicologia. Laura não se atrasara nos estudos pela necessidade de ganhar dinheiro para pagar a mensalidade e se sustentar, mas Chyna passara os últimos dez anos estudando em carga horária mínima, enquanto trabalhava como garçonete em período integral, primeiro num Denny's, depois numa unidade da rede Olive Garden, e mais recentemente num restaurante de alta classe, com toalhas de mesa brancas, guardanapos de pano e flores frescas nas mesas. Os fregueses ali — abençoados sejam — costumavam deixar gorjetas de quinze ou vinte por cento. Aquela visita à casa dos Templeton, no vale de Napa, era o descanso mais prolongado que ela se permitia em dez anos.
De San Francisco, Laura seguira pela Interestadual 80, passando por Berkeley e pela extremidade oriental da baía de San Pablo. Garças azuis espalhavam-se pelas águas rasas, alçavam vôo graciosas, enormes, pré-históricas, belas contra o céu sem nuvens.
Agora, ao pôr-do-sol dourado e escarlate, nuvens esparsas ardiam no céu, e o vale de Napa estendia-se como uma tapeçaria radiante. Laura deixara a estrada principal, optando por um caminho panorâmico, mas guiava tão depressa que Chyna raramente era capaz de desviar os olhos da estrada para apreciar a paisagem.
— Puxa, como eu gosto da velocidade! — exclamou Laura.
— Pois eu detesto.
— Eu adoro correr, como um raio; quero sempre voar. Talvez eu tenha sido uma gazela numa vida anterior. O que você acha?
Chyna olhou para o velocímetro e fez uma careta.
— É possível, talvez uma gazela... ou uma louca trancada num hospício.
— Ou um guepardo. Os guepardos são muito velozes.
— Pode ser um guepardo... e um dia vai perseguir uma presa até cair de um penhasco, sem ter tempo para frear.
— Sou boa motorista, Chyna.
— Sei disso.
— Então relaxe.
— Não consigo.
Laura suspirou, numa falsa exasperação.
—Nunca?
— Quando durmo.
Chyna comprimiu os pés contra o chão, enquanto o Mustang fazia uma curva larga em alta velocidade.
Para além do estreito acostamento de cascalho da estrada de duas faixas, a encosta era coberta de mostarda silvestre e espinheiros até uma fileira de enormes amieiros pretos, exibindo os botões do início da primavera. Depois dos amieiros ficavam as videiras, banhadas pela intensa luz vermelha. Chyna teve certeza de que o carro sairia do asfalto, rolaria pela encosta, bateria nas árvores e o sangue dela serviria para fertilizar as videiras próximas.
Em vez disso, Laura manteve o Mustang na estrada sem o menor esforço. O carro saiu da curva e começou a subir por um longo aclive.
— Aposto que você se preocupa até no sono, Chyna.
— Mais cedo ou mais tarde, em todos os sonhos, aparece um bicho-papão. Tenho de me manter atenta.
— Tenho muitos sonhos sem bicho-papão — garantiu Laura. — Sonhos maravilhosos.
— Como ser disparada de um canhão?
— Não, mas isso seria divertido. Às vezes sonho que posso voar. Estou sempre nua e flutuando a uns quinze metros do chão, acima das linhas telefônicas, pelos campos floridos, por sobre a copa das árvores. Livre. As pessoas olham para cima, sorriem e acenam. Demonstram a maior satisfação ao verem que posso voar, felizes por mim. E às vezes estou com um cara lindo, esguio e musculoso, com cabelos dourados e adoráveis olhos verdes que olham através de mim, vendo minha alma. Fazemos amor em pleno ar, flutuando lá em cima, e eu tenho orgasmos incríveis sob o brilho do sol, com flores lá embaixo, passarinhos voando acima de nós com asas azuis iridescentes, cantando da maneira mais fantástica que já se ouviu, e tenho a sensação de que estou cheia de uma luz radiante, uma criatura feita apenas de luz, parece que vou explodir, como um centro de energia, explodir e formar todo um novo universo, ser esse universo, viver para sempre. Você já teve alguma vez um sonho assim?
Chyna finalmente desviara os olhos do asfalto. Olhava espantada para Laura.
— Não.
Laura tirou os olhos da pista para fitada.
— É mesmo? Nunca teve um sonho assim?
— Nunca.
— Pois eu tenho muitos.
— Dá para você ficar de olho na estrada, menina?
Laura voltou sua atenção para a pista.
— Nunca sonha com sexo?
— Às vezes.
— E....
— E o quê?
— E como é?
Chyna deu de ombros.
— E horrível. Laura franziu o rosto.
— Sonha que faz um sexo horrível? Não precisa sonhar com isso, Chyna... há muitos caras que podem dar a você todo o sexo horrível que quiser.
— Muito engraçado. Tenho pesadelos, ameaçadores.
— O sexo é ameaçador?
— É que sempre sou uma menina, nos sonhos... com seis, sete ou oito anos... e estou sempre me escondendo de um homem, sem entender direito o que ele quer, por que me procura, mas sei que ele quer de mim alguma coisa que não deve ter, alguma coisa terrível, algo como a morte.
— Quem é o homem?
— São homens diferentes.
— Alguns dos sacanas com quem sua mãe saía?
Chyna falara muita coisa sobre sua mãe para Laura. Nunca falara sobre isso a ninguém, antes.
— É, aqueles homens. Sempre fugi deles na vida real. Nunca me tocaram, e nunca me tocam nos sonhos. Mas há sempre uma ameaça, sempre uma possibilidade...
— Então não são apenas sonhos. São lembranças também.
— Eu gostaria, que fossem apenas sonhos.
— O que acontece quando está acordada?
— Como assim?
— Sente-se quente e tonta, despreocupa-se por completo quando um homem faz amor com você... ou o passado está sempre à espreita?
— O que é isso... análise a cento e vinte quilômetros por hora?
— Está se esquivando?
— Você está sendo bisbilhoteira.
— E o que chamo de amizade.
— E eu chamo de bisbilhotice.
Vai continuar a fugir da pergunta?
Chyna suspirou.
— Está bem. Gosto da companhia de um homem. Não fico inibida. Admito que nunca me senti uma criatura de luz prestes a explodir num novo universo, mas fico plenamente satisfeita, sempre me divirto.
— Plenamente?
— Plenamente.
Na verdade, Chyna nunca estivera com um homem até os vinte e um anos de idade, e seus relacionamentos íntimos totalizavam agora exatamente dois. Ambos haviam se mostrado gentis e decentes, e nos dois casos Chyna gostara muito do ato de amor. Um relacionamento se prolongara por onze meses, o outro por treze, e nenhum dos namorados deixara uma única lembrança perturbadora. Mesmo assim, nenhum deles a ajudara a banir os sonhos insidiosos que continuavam a atormentá-la periodicamente, e ela não conseguira alcançar um vínculo emocional igual à intimidade física. Para um homem a quem amasse, Chyna podia entregar seu corpo, mas nem mesmo por amor conseguia entregar por completo sua mente e seu coração. Tinha medo de se comprometer, de confiar sem restrições. Ninguém em sua vida, com a possível exceção de Latira Templeton — piloto de testes e voadora em sonhos — jamais merecera confiança total.
O vento uivava nas laterais do carro. Entre as sombras tremeluzentes e a claridade avermelhada, a longa subida parecia uma rampa, como se as garotas estivessem prestes a se lançar pelo espaço quando chegassem ao topo, voando por cima de uma dúzia de ônibus em chamas enquanto um estádio cheio de espectadores em busca de emoções as aclamava.
— E se furar um pneu? — indagou Chyna.
— Os pneus não vão furar — garantiu Laura, confiante.
— Mas se acontecer?
Laura contraiu o rosto num sorriso exagerado, demoníaco.
— Então ficaremos como geléia dentro de uma lata. Não conseguirão sequer separar os restos em dois corpos distintos. Uma mistura amorfa. Não vão precisar nem de caixões para nós. Vão despejar nossos restos mortais num jarro e pôr numa sepultura, com uma lápide dizendo: Laura Chyna Templeton Shepherd. Só um liqüidificador faria melhor.
Chyna tinha os cabelos tão escuros que eram virtualmente pretos, enquanto Laura era loura de olhos azuis, mas isso não impedia que fossem parecidas como irmãs. Tinham ambas um metro e sessenta e dois de altura e eram magras, usavam roupas do mesmo número. Tinham as maçãs do rosto salientes e feições delicadas. Chyna sempre achara que sua boca era larga demais, mas Laura, cuja boca era do mesmo tamanho, dizia que não era larga, apenas "generosa" o suficiente para garantir um sorriso cativante.
Como provava a paixão de Laura pela velocidade, no entanto, eram profundamente diferentes em alguns aspectos. Eram as diferenças, talvez, mais do que as semelhanças, que as atraíam uma para a outra.
— Acha que seu pai e sua mãe vão gostar de mim? — perguntou Chyna.
— Pensei que estava preocupada com um pneu furado.
— Preocupo-me com várias coisas ao mesmo tempo. Será que eles vão gostar de mim?
— Claro que sim. Sabe com que eu me preocupo?
— Ao que parece, não com a morte.
— Com você. Eu me preocupo com você.
Laura olhou para Chyna, e sua expressão era inesperadamente séria.
— Sei cuidar de mim mesma, Laura.
— Não duvido. Eu a conheço muito bem para duvidar disso. Mas a vida não é apenas cuidar de si mesma, manter-se segura, sobreviver.
— Laura Templeton, a filósofa.
— A vida consiste em viver.
— Um pensamento profundo — comentou Chyna, sarcástica.
— Mais profundo do que você imagina.
O Mustang chegou ao topo do longo aclive e não havia ônibus em chamas nem multidões aclamando, mas logo à frente havia um Buick velho, rodando muito abaixo do limite de velocidade permitido. Laura reduziu a sua em mais da metade, e permaneceram atrás do outro carro. Mesmo na claridade difusa, Chyna pôde perceber que o motorista era idoso, de cabelos brancos, ombros arredondados.
Estavam num trecho de ultrapassagem proibida. A estrada subiu e desceu, virou para a esquerda e para a direita, tornou a subir. Não era possível ver muito à frente.
Laura acendeu os faróis do Mustang, com a intenção de pressionar o motorista do Buick a aumentar a velocidade ou dar passagem, num trecho em que o acostamento alargava.
— Aproveite o próprio conselho, menina... relaxe — disse Chyna.
— Detesto me atrasar para o jantar.
— Por tudo o que falou dela, não creio que sua mãe seja do tipo que possa nos espancar com cabides de arame.
— Mamãe é ótima.
— Então sossegue.
— Mas ela assume uma expressão desapontada que é pior que cabides de arame. A maioria das pessoas não sabe disso, mas foi por causa de mamãe que a Guerra Fria acabou. Há alguns anos, ela foi enviada a Moscou pelo Pentágono, para que pudesse lançar o Olhar sobre todo o Politburo. Todos aqueles celerados soviéticos desabaram de remorso.
À frente, o velho no Buick deu uma olhada pelo espelho retrovisor.
Os cabelos brancos à luz dos faróis, o ângulo da cabeça do homem e a mera sugestão de seus olhos, refletidos no espelho, provocaram de repente em Chyna uma intensa sensação de déjà vu. Por um momento, ela não entendeu por que sentia um calafrio... mas depois tirou do fundo da memória um incidente que há muito tempo tentava em vão esquecer: outro anoitecer, dezenove anos antes,, uma estrada vazia na Flórida.
— Oh, não... — balbuciou ela. Laura fitou-a.
— Qual é o problema? Chyna fechou os olhos.
— Está branca como um fantasma, Chyna. O que foi?
— Há muito tempo... quando eu era menina, tinha sete anos... Talvez estivéssemos nos Everglades, talvez não... mas a região era pantanosa. Não havia muitas árvores, e as poucas à vista estavam cobertas de barba-de-velho. Tudo era plano até onde a vista alcançava, o sol vermelho, pondo-se como agora, uma estrada secundária em algum lugar, longe de qualquer coisa, apenas duas faixas estreitas, vazias e solitárias...
Chyna estava com sua mãe e Jim Woltz, um traficante de drogas e contrabandista de armas de Key West, com quem haviam vivido de vez em quando, por um ou dois meses de cada vez, durante sua infância. Fora uma viagem de negócios, e voltavam para as Keys no Cadillac vermelho do ano de Woltz, um daqueles modelos de rabo-de-peixe e cinco toneladas de cromados. Woltz guiava em alta velocidade pela estrada reta, às vezes passando dos cento e sessenta quilômetros. Há quase quinze minutos não encontravam carro nenhum, quando alcançaram o casal idoso no Mercedes creme. A mulher guiava. Aparência frágil, cabelos prateados bem curtos, setenta e cinco anos, no mínimo. Não passava de setenta quilômetros por hora. Woltz poderia ter ultrapassado o Mercedes; estavam numa reta e não havia nenhum outro veículo à vista na estrada plana.
— Mas ele estava alto com alguma coisa — murmurou Chyna para Laura, os olhos ainda fechados, vasculhando a memória com crescente temor, enquanto projetava a cena como um filme numa tela por trás das pálpebras. — Ele passava a maior parte do tempo alto com uma coisa ou outra. Talvez fosse cocaína naquele dia. Não sei. Não me lembro. Ele também estava bebendo. Junto com minha mãe. Tinham uma caixa de isopor cheia de gelo, com garrafas de suco de fruta e vodca. A velha no Mercedes guiava devagar, e isso deixou Woltz furioso. Ele não era racional. Que importância tinha para ele? Poderia ter ultrapassado o Mercedes, mas vê-la guiando tão devagar na estrada reta e plana o enfureceu. Drogas e álcool, e é isso, uma coisa completamente irracional. Quando ele se zangava... ficava com o rosto vermelho, as artérias latejavam no pescoço, os músculos dos maxilares saltavam. Ninguém podia ficar tão furioso quanto Jim Woltz. E sua raiva excitou minha mãe. Sempre a excitava. Por isso ela o provocou, o encorajou. Eu estava sentada no banco traseiro, tensa, e suplicava para ela parar, mas minha mãe continuou.
Por algum tempo, Woltz se mantivera atrás do Mercedes, buzinando para o casal idoso, tentando forçar a mulher a aumentar a velocidade. Chegou a encostar algumas vezes o pára-choque na traseira do outro carro, metal beijando metal com um rangido. A velha acabou ficando nervosa, passou a ziguezaguear na estrada, com medo de ir mais depressa, já que Woltz estava logo atrás, mas assustada demais para sair da estrada e deixá-lo passar.
— Claro que ele não seguiria adiante e a deixaria em paz — disse Chyna. — A essa altura, Woltz já estava psicótico demais. Teria parado quando a mulher parasse. Terminaria mal de qualquer maneira.
Woltz emparelhara com o Mercedes algumas vezes, guiando na contramão, gritando e sacudindo o punho para o casal de cabelos brancos, que primeiro tentara ignorá-lo, mas logo passou a fitá-lo com os olhos arregalados, cheios de medo. Só que em vez de seguir adiante e deixá-los em sua poeira, ele tornava a ficar para trás, para bater de novo no pára-choque traseiro do Mercedes. Para Woltz, na febre da droga e no nevoeiro do álcool, aquele assédio era algo muito sério, com uma importância e um significado que nunca poderiam ser entendidos por alguém sóbrio. Para a mãe de Chyna, Anne, era tudo um jogo, uma aventura, e foi ela quem disse, em sua busca incessante de excitação, "Por que não oferecemos a ela um teste de direção?" Ao que Woltz respondeu, "Teste? Não preciso de um teste para saber que essa velha sacana não guia porra nenhuma." E quando Woltz tornou a emparelhar com o Mercedes, na mesma velocidade, Anne acrescentou, "Podemos ver se ela consegue se manter na estrada. Faça isso como um desafio." Voltando-se para Laura, Chyna recordou:
— Havia um canal paralelo à estrada, um desses canais de drenagem que existem ao longo das estradas da Flórida. Não era muito profundo, apenas o suficiente. Woltz usou o Cadillac para empurrar o Mercedes para o acostamento. A velha deveria ter reagido, empurrado o Cadillac para o outro lado. Ou apertado o acelerador até o fundo, escapando o mais depressa possível. O Mercedes teria deixado o Cadillac para trás sem a menor dificuldade. Mas ela era velha, estava apavorada, nunca havia se visto numa situação assim. Acho que ela não conseguia acreditar, não era capaz de entender o tipo de pessoas que enfrentava, não podia perceber até onde iriam, embora ela e o marido nada tivessem feito. Woltz forçou-a a sair da estrada. E o Mercedes caiu no canal.
Woltz parou, voltou em marcha a ré até o ponto em que o Mercedes afundava rapidamente. Ele e Anne saltaram do carro para observar. A mãe insistiu para que Chyna também olhasse: "Venha, sua pequena covarde. Não vai querer perder isso, meu bem. É uma coisa inesquecível." O lado do Mercedes reservado ao passageiro se comprimia contra o fundo lamacento do canal, enquanto o lado do motorista estava virado para eles, parados lá em cima, à beira do canal, no ar úmido da noite. Eram picados por hordas de mosquitos, mas mal percebiam, fascinados pela visão, olhando para dentro das janelas do lado do motorista do veículo submerso.
— Estava escurecendo — murmurou Chyna, expressando em palavras as imagens que se passavam por trás dos olhos fechados — e os faróis estavam acesos, mesmo depois que o Mercedes afundou, e havia luzes dentro dele. O carro tinha ar condicionado e por isso estava com todas as janelas fechadas. Nem o pára-brisa nem as janelas do lado do motorista haviam se quebrado quando o carro capotou. Podíamos ver o interior porque as janelas estavam apenas uns poucos centímetros abaixo da superfície da água. Não havia sinal do marido. Talvez ele tivesse desmaiado no momento em que o Mercedes saíra da estrada. Mas a velha... seu rosto estava na janela. A água entrara no carro, mas havia um bolsão de ar junto ao vidro. Ela mantinha o rosto ali, para poder respirar. Estávamos parados ali, observando. Woltz poderia ter ajudado. Minha mãe poderia ter ajudado. Mas eles se limitavam a olhar. A velha não conseguia abrir a janela e a porta estava presa, ou talvez ela estivesse muito apavorada e muito fraca.
Chyna tentou se afastar, mas a mãe segurou-a, falando em tom de urgência, as palavras sussurradas num bafo azedo de vodca e suco de fruta. "Somos diferentes das outras pessoas, meu bem. As regras não se aplicam a nós. Nunca compreenderá o que a liberdade realmente significa se não aprender isso." Chyna fechou os olhos, mas ainda assim foi capaz de ouvir a velha gritando na enorme bolha de ar dentro do carro submerso. Gritos abafados.
— Mas depois, pouco a pouco, os gritos foram se enfraquecendo... até que cessaram — balbuciou Chyna para Laura. -— Quando abri os olhos, já era noite. Ainda havia luz dentro do Mercedes, o rosto da mulher ainda se comprimia contra o vidro, mas uma brisa começara a soprar, ondulando a água, deixando suas feições indistintas. Eu sabia que ela estava morta. Ela e o marido. Comecei a chorar. Woltz não gostou. Ameaçou me arrastar para o canal, abrir a porta do Mercedes e me empurrar para dentro, junto com os velhos mortos. Minha mãe me fez beber um pouco de vodca com suco de fruta. Eu tinha apenas sete anos. Durante o resto do percurso até Key West fiquei deitada no banco traseiro, tonta pela vodca, meio embriagada e um pouco nauseada, ainda chorando, mas baixinho, para não enfurecer Woltz, até que caí no sono.
No Mustang de Laura, os únicos sons eram o ronco suave do motor e o murmúrio dos pneus sobre o asfalto.
Chyna finalmente abriu os olhos e voltou da lembrança da Flórida, do crepúsculo úmido do passado para o vale de Napa, onde a maior parte da claridade vermelha desaparecera do céu e a escuridão avançava por todos os lados.
O velho no Buick não estava mais na frente delas. Não avançavam mais tão depressa, e era evidente que ele as deixara para trás.
— Oh, Deus... — sussurrou Laura.
Chyna tremia de maneira incontrolável. Tirou algumas folhas de lenço de papel da caixa no consolo entre os bancos, assoou o nariz, enxugou os olhos. Durante os últimos dois anos partilhara parte de sua infância com Laura, mas cada nova revelação — e ainda havia muita coisa a revelar — era tão difícil quanto a anterior. Ao falar do passado, sempre ardia de vergonha, como se fosse tão culpada quanto a mãe, como se cada ato criminoso e cada acesso de loucura pudessem lhe ser atribuídos, embora fosse apenas uma criança desamparada, acuada pela insanidade dos outros.
— Tornará a vê-la algum dia? — perguntou Laura.
A recordação deixara Chyna meio atordoada de horror.
— Não sei.
— Será que você vai querer?
Chyna hesitou. Tinha as mãos contraídas em punhos, um lenço de papel úmido na mão direita.
— Talvez.
— Pelo amor de Deus, por quê?
— Para perguntar por quê. Para tentar compreender. Para acertar algumas coisas. Mas... talvez não.
— Sabe onde ela está?
— Não. Mas não me surpreenderia se estivesse na cadeia. Ou morta. Não se pode viver assim e esperar envelhecer.
Elas desciam agora para o vale. Depois de algum tempo, Chyna acrescentou:
— Ainda posso vê-la parada na escuridão na margem do canal, suada, os cabelos escorridos e emaranhados, toda picada por mosquitos, os olhos turvos de vodca. Mesmo assim, Laura, ela ainda era a mulher mais linda que eu já vi. Sempre foi bonita, perfeita por fora, uma mulher que parecia saída de um sonho, como um anjo... mas se tornava ainda mais bonita quando ficava excitada, quando havia violência. Posso imaginá-la parada ali, visível apenas devido à claridade esverdeada dos faróis do Mercedes se projetando pela água lamacenta do canal. Estava deslumbrante, gloriosa, a pessoa mais linda do planeta, como uma deusa de outro mundo.
Pouco a pouco, o tremor de Chyna foi se desvanecendo. O calor da vergonha se esvaiu de seu rosto, mas bem devagar.
Sentia-se imensamente grata pela preocupação e pelo apoio de Laura. Uma amiga. Até conhecer Laura, Chyna vivera secretamente com o passado, incapaz de falar a respeito com qualquer pessoa. Agora, tendo descarregado outra lembrança odiosa, não podia converter sua gratidão em palavras.
— Está tudo bem — disse Laura, como se lesse os pensamentos de Chyna.
Elas continuaram em silêncio.
Estavam atrasadas para o jantar.
Para Chyna, a casa dos Templeton pareceu aconchegante à primeira vista: vitoriana, com frontões, muitos cômodos, varandas largas na frente e atrás. Ficava a cerca de um quilômetro da estrada do condado, no final de um caminho de cascalho, cercada por cinqüenta hectares de vinhas.
Os Templeton cultivavam uvas há três gerações, mas nunca haviam produzido vinho. Tinham contrato com um dos melhores produtores do vale, e por possuírem uma terra fértil, com videiras da melhor qualidade, recebiam um preço excelente por sua colheita.
Sarah Templeton apareceu na varanda quando ouviu o Mustang na entrada e desceu apressadamente os degraus para cumprimentar Laura e Chyna. Era uma mulher atraente, esbelta, com uma aparência jovem, quarenta e poucos anos, os cabelos louros num corte elegante, usando um jeans fulvo e uma blusa verde-esmeralda de mangas compridas, com bordados verdes na gola. Era ao mesmo tempo chique e maternal. Quando Sarah abraçou e beijou Laura, apertando-a com um amor intenso e evidente, Chyna sentiu uma pontada de inveja e um calafrio de angústia por jamais ter conhecido o amor de mãe.
Tornou a ficar surpresa quando Sarah virou-se para ela, abraçou-a, beijou-a no rosto e murmurou, ainda a envolvê-la: "Laura me diz que você é a irmã que ela nunca teve, e quero que se sinta à vontade aqui, querida. Quando estiver aqui conosco, esta casa é tanto sua quanto nossa."
Chyna ficou rígida a princípio, tão desacostumada aos rituais da afeição familiar que não sabia como reagir. Mas logo retribuiu o abraço, um tanto desajeitada, e balbuciou um agradecimento inadequado. Sentia a garganta tão apertada que se espantou por conseguir falar.
Com os braços estendidos em torno de Laura e Chyna, conduzindo-as para os degraus largos da varanda, Sarah acrescentou:
— Pegaremos a bagagem de vocês mais tarde. Agora vamos jantar. Laura me falou muito sobre você, Chyna.
— Mas não contei que Chyna é praticante do vodu, mamãe. Omiti essa parte. Ela vai precisar sacrificar uma galinha viva todos os dias, à meia-noite, enquanto estiver conosco.
—Ali, mas não temos galinhas, querida, só cultivamos uvas. Mas depois do jantar podemos visitar as granjas da área para comprar algumas.
Chyna soltou uma risada e olhou para Laura, como se indagasse "Onde está o famigerado Olhar?" Laura entendeu.
— Em sua homenagem, Chyna, todos os cabides de arame e artefatos similares foram guardados.
— Do que estão falando? — indagou Sarah.
— Você me conhece, mamãe... uma maluca tagarela. Às vezes nem mesmo eu sei do que estou falando.
Paul Templeton, o pai de Laura, estava na cozinha grande, tirando do forno um prato de batata e queijo. Era um homem compacto e elegante, com um metro e setenta e oito de altura, cabelos escuros abundantes, pele avermelhada. Pôs o prato fumegante de lado, tirou as luvas e cumprimentou Laura tão afetuosamente quanto Sarah. Depois de apresentado a Chyna, segurou uma das mãos dela entre as suas, que eram ásperas e calosas devido ao trabalho, e declarou com uma solenidade simulada:
— Rezamos para que chegasse inteira ao final da viagem. A minha garota ainda guia o Mustang como se pensasse estar no Batmóvel?
— Ei, papai, — interveio Laura —, acho que esqueceu que foi você quem me ensinou a dirigir.
— Eu tentei ensinar as técnicas básicas — protestou Paul. — Não esperava que também aprendesse o meu estilo.
— Eu me recuso a pensar em Laura guiando — disse Sarah. — Ficaria doente de preocupação o tempo todo.
— Tem de enfrentar os fatos, mamãe. Há mu gene das Quinhentas Milhas de Indianápolis na família de papai, e ele o passou para mim.
— Ela dirige muito bem — comentou Chyna. — Sempre me sinto segura com Laura.
Laura sorriu e fez um sinal de positivo.
O jantar foi demorado, sem pressa, porque os Templeton gostavam de conversar, vicejavam com a conversa. Tomaram o cuidado de incluir Chyna e pareciam ter um interesse genuíno pelo que ela dizia. Mesmo quando a conversa versava sobre questões de família sobre as quais Chyna tinha pouco conhecimento, ela não se sentia excluída, porque havia a sensação de que fora absorvida, por uma osmose mágica, pelo clã dos Templeton.
O irmão de Laura, Jack, tinha pouco mais de trinta anos e vivia com a esposa Nina no bangalô do caseiro, mas um compromisso anterior os impedira de participar do jantar com a família. Chyna foi informada de que os conheceria pela manhã, e não sentiu a menor apreensão com a perspectiva, ao contrário do que acontecera antes de se encontrar com Sarah e Paul. Ao longo de sua vida perturbada, não houvera nenhum lugar em que se sentisse à vontade; mesmo ali, talvez nunca ficasse totalmente à vontade, mas pelo menos sentia-se bem-vinda.
Depois do jantar, Chyna e Laura foram dar um passeio pelo vinhedo enluarado, entre as fileiras de videiras podadas, das quais ainda não haviam começado a brotar folhas ou frutos. O ar fresco recendia ao cheiro fecundo e agradável da terra recém-arada. Havia um clima de mistério nos campos escuros que Chyna achou intrigante, encantador... mas também às vezes desconcertante, como se estivessem entre presenças invisíveis, espíritos antigos não de todo benignos.
Embrenharam-se pelo vinhedo e só depois de um longo tempo resolveram voltar.
— Você é a melhor amiga que eu já tive — Comentou Chyna então.
— Também digo a mesma coisa sobre você.
— Mais do que isso...
A frase morreu-lhe nos lábios. Ela quase disse "Você é a única amiga que já tive", mas isso parecia pouco convincente e não expressava o que sentia por aquela garota. No fundo, de certo modo, eram irmãs. Laura cruzou seu braço com o dela e murmurou:
— Sei disso.
— Quando você tiver filhos, quero que me chamem de tia Chyna.
— Ora, Shepherd, não acha que devo encontrar um cara e casar antes de começar a gerar bebês?
— Quem quer que ele seja, acho melhor se tornar o melhor marido do mundo, ou juro que cortarei seus cojones.
— Pode me fazer um favor? — pediu Laura. — Não fale sobre isso a ele até depois do casamento. Alguns caras podem se assustar e mudar de idéia.
Um som inquietante em algum lugar do vinhedo deteve Chyna. Um rangido prolongado.
— É só o vento em uma porta aberta do estábulo. Dobradiças enferrujadas — sugeriu Latira.
A impressão era de alguém abrindo uma porta gigantesca na parede da própria noite e vindo de outro mundo.
Chyna Shepherd não conseguia dormir direito em casas estranhas. Por toda a sua infância e adolescência, a mãe a levara de um lado para outro do país, não permanecendo em nenhum lugar por mais de um ou dois meses. Tantas coisas terríveis lhes haviam acontecido, em tantos lugares, que Chyna acabara aprendendo a considerar cada nova casa não como um novo início, não com esperança de estabilidade e felicidade, mas com suspeita e um medo contido.
Agora se livrara há muito da mãe transtornada e podia ficar apenas onde quisesse. Sua vida hoje em dia era quase tão estável quanto a de uma freira enclausurada, planejada de uma maneira tão meticulosa quanto os procedimentos de um esquadrão de bombas para desarmar um artefato explosivo, sem nada do turbilhão que a mãe adorava.
Mesmo assim, naquela primeira noite na casa dos Templeton, Chyna relutava em se despir e ir para a cama. No escuro, sentou-se na poltrona junto a uma das duas janelas do quarto de hóspedes, contemplando as videiras iluminadas pelo luar, os campos e os morros do vale de Napa.
Laura instalara-se em outro quarto, no fim do corredor do segundo andar, e com certeza já mergulhara num sono profundo, em paz, porque aquela casa não lhe era estranha.
Pela janela do quarto de hóspedes, as videiras no início da primavera mal eram visíveis. Vagos padrões geométricos.
Depois das fileiras cultivadas havia encostas suaves cobertas de relva seca, que exibiam um brilho prateado sob o luar. Uma brisa inconstante percorria o vale, e às vezes a relva parecia ondular como o mar pelas encostas.
Sobre as colinas estendia-se a Coast Range, e acima desses picos havia cascatas de estrelas e uma lua cheia muito branca. Nuvens de tempestade passando por sobre as montanhas, procedentes do noroeste, muito em breve escureceriam a noite, tornando plúmbeas as colinas prateadas, deixando-as depois com o mais negro tom de ferro.
Quando ouviu o primeiro grito, Chyna contemplava as estrelas, atraída por seu brilho frio como ocorria desde a infância, fascinada por imaginar a existência de mundos distantes que podiam ser esterilizados e puros, livres das doenças. A princípio, o grito abafado pareceu apenas uma recordação, um fragmento de uma discussão estridente em outra casa estranha no passado, ecoando no tempo. Muitas vezes, quando criança, ansiosa em se esconder da mãe e dos amigos da mãe, quando ficavam altos devido à bebida ou às drogas, Chyna escapulia por telhados de varandas, esgueirava-se por janelas para escadas de incêndio, longe das brigas, onde podia estudar as estrelas. Ali, as vozes alteadas em discussão ou excitação sexual, engroladas na vertigem induzida pelas drogas, chegavam a seus ouvidos como saídas de um rádio, de lugares e pessoas distantes, sem nenhuma ligação com sua vida.
O segundo grito, embora também breve e apenas um pouco mais alto que o anterior, foi indubitavelmente do presente, não uma recordação, e Chyna inclinou-se para a frente na poltrona. Tensa, a cabeça erguida, prestando atenção.
Queria acreditar que a voz viera lá de fora, e por isso continuou a olhar para a noite, admirando as videiras e as colinas ao fundo. As ondas impelidas pela brisa agitavam a relva seca nas encostas enluaradas: uma miragem de água, como ondas fantasmas de um mar antigo.
De algum lugar da casa grande veio um baque seco, como se um objeto pesado tivesse caído no chão acarpetado.
Chyna levantou no mesmo instante e ficou completamente imóvel, em alerta.
Os problemas costumavam suceder-se a vozes alteradas por um ou outro tipo de paixão. Às vezes, no entanto, as piores coisas eram precedidas por silêncios calculados, movimentos furtivos.
Ela tinha dificuldade em conciliar a idéia de violência doméstica entre Paul e Sarah Templeton, que pareciam gentis e afetuosos um com o outro e também com a filha. Não obstante, a aparência e a realidade podiam não ser a mesma coisa, e o talento humano para a impostura era muito maior que o do camaleão, do melro ou do louva-a-deus, que mascara seu feroz canibalismo com uma postura serena e devota.
Depois dos gritos abafados e do baque seco, o silêncio caiu como uma nevasca — profundo, insólito e antinatural como o mundo dos surdos. Era a quietude que antecedia o ataque, o silêncio da cobra enroscada para dar o bote.
Em outra parte da casa, alguém se mantinha tão imóvel quanto ela, de pé, alerta, escutando com toda a atenção. Alguém perigoso. Chyna podia sentir a presença do predador, uma nova e sutil tensão no ar, não muito diferente da que precedia uma violenta tempestade.
De alguma maneira, seis anos de aulas de psicologia fizeram-na questionar sua interpretação apavorada imediata daqueles sons noturnos, que afinal de contas poderiam ser insignificantes. Qualquer psicanalista bem treinado teria uma abundância de rótulos para qualificar alguém que, de saída, chegasse a uma conclusão negativa, que vivesse na expectativa da violência repentina.
Mas ela tinha de confiar em seu instinto. Ele fora apurado por muitos anos de experiências desagradáveis.
Com a certeza intuitiva de que não era seguro ficar parada, Chyna afastou-se sem fazer barulho da poltrona junto à janela, a caminho da porta que dava para o corredor. Apesar do luar, seus olhos haviam se ajustado à escuridão devido às duas horas em que permanecera sentada no quarto com a luz apagada, e ela avançava pelo quarto sem receio de esbarrar nos móveis.
Já estava na metade do caminho para a porta quando ouviu passos se aproximando pelo corredor do segundo andar. Eram passos pesados, urgentes, estranhos àquela casa.
Ignorando a tendência a formular hipóteses, comum em estudantes de psicologia, e retornando à intuição e às defesas da infância, Chyna recuou apressada para a cama. Caiu de joelhos.
Mais além, no corredor, os passos cessaram. Uma porta foi aberta.
Ela sabia que era um absurdo atribuir raiva à mera abertura de uma porta. O barulho da maçaneta sendo sacudida, o estalido da lingüeta meio fora de prumo, o rangido da dobradiça precisando de óleo... eram apenas sons, nem mansos nem furiosos, nem culpados nem inocentes, e podiam ser produzidos com a mesma facilidade por um sacerdote ou um assaltante. Mas Chyna sabia que havia raiva à solta naquela noite.
Deitada de bruços, ela meteu-se debaixo da cama, com os pés virados para a cabeceira. Era um belo móvel, de pés grossos, e por sorte mais alto que a maioria das camas. Menos dois ou três centímetros de espaço e ela não teria como se esconder.
Passos tornaram a soar no corredor.
Outra porta foi aberta. A porta do quarto de hóspedes. Em frente aos pés da cama.
Alguém acendeu a luz.
Chyna estava deitada de cabeça virada para o lado, o ouvido direito comprimido contra o tapete. Dali, podia avistar as botas pretas de uni homem e as pernas de sua calça jeans, até o meio da canela.
Ele parou na porta, obviamente inspecionando o quarto. Veria uma cama ainda arrumada à uma hora da madrugada, com quatro almofadas decorativas alinhadas na cabeceira.
Chyna nada deixara nas mesinhas de cabeceira. Nenhuma roupa largada nas cadeiras. O livro que trouxera para ler antes de dormir fora guardado numa gaveta da cômoda.
Sempre preferia os espaços limpos e desocupados, ao ponto da aridez monástica. Essa preferência poderia agora lhe salvar a vida.
Outra vez uma tênue dúvida, a propensão à auto-analise que atormenta todos os psicólogos invadiu-a de repente. Se o homem na porta fosse alguém com o direito de estar na casa — Paul Templeton ou o irmão de Laura, Jack, que vivia com a esposa no bangalô do caseiro — e houvesse algum motivo que explicasse abrir a porta sem bater, ela daria a impressão de ser uma perfeita idiota ou mesmo uma histérica, ao sair de baixo da cama.
Mas então, bem na frente das botas pretas, uma enorme gota vermelha — mais outra e mais outra — caiu no tapete dourado, cor de trigo. Sangue. As duas primeiras gotas foram absorvidas pelo tapete. A terceira manteve a tensão de superfície, faiscando como um rubi.
Chyna sabia que o sangue não era do intruso. Tentou não pensar no instrumento afiado de que poderia ter caído.
O homem deslocou-se para a direita, avançando pelo quarto, e Chyna virou os olhos para acompanhá-lo.
A cama tinha reentrâncias laterais onde a colcha fora enfiada. Nenhum pedaço de tecido bloqueava sua visão das botas.
Por outro lado, sem a colcha pendendo para o chão, o espaço embaixo da cama era mais visível para ele. De alguns ângulos, talvez pudesse até olhar para baixo e avistar uma parte do jeans de Chyna, a ponta de um dos Rockports, a manga vermelha do casaco de algodão, esticada no cotovelo dobrado.
Ela sentiu-se grata por ser uma cama grande, proporcionando mais cobertura que uma cama de solteiro ou uma cama de casal comum.
Se acaso o homem tinha a respiração ofegante devido à excitação ou à raiva que Chyna sentira em sua aproximação, ela não conseguia ouvir. Com um dos ouvidos comprimido contra o tapete grosso, não conseguia escutar bem. O estrado da cama e as molas do colchão pressionavam suas costas, o peito mal tinha espaço para se expandir e respirar, de boca aberta, cautelosa e superficialmente. O martelar do coração comprimido contra o esterno ressoava como uma explosão em seus tímpanos e parecia preencher os limites claustrofóbicos do esconderijo a tal ponto que tinha certeza de que o intruso a ouviria.
Ele foi até a porta do banheiro, abriu-a, acendeu as luzes.
Chyna guardara todas as suas coisas no armarinho da pia. Até a escova de dentes. Não havia nada de fora que pudesse alertá-lo para sua presença.
Mas estaria a pia seca?
Ao se retirar para o quarto, às onze horas da noite, ela usara o banheiro e lavara as mãos. Duas horas já haviam se passado. Qualquer resíduo de água na pia já deveria ter escorrido ou evaporado.
Havia um frasco de sabonete líquido na pia, com fragrância de limão. Por sorte, não havia nenhuma barra de sabonete úmida para traí-la.
Chyna preocupou-se com a toalha de rosto. Duvidava que pudesse ainda estar úmida duas horas depois do pouco uso que fizera. Mesmo assim, apesar de sua propensão à arrumação e à ordem, talvez a tivesse pendurado um pouco torta, ou com um amarrotado denunciador.
O homem pareceu demorar-se na porta do banheiro por uma eternidade. Por fim, apagou a luz fluorescente e retornou ao quarto.
De vez em quando, quando pequena — e algumas vezes quando já não era tão pequena assim —, Chyna refugiava-se debaixo de camas. Em alguns casos, procuravam por ela ali; em outros, embora fosse o mais óbvio de todos os esconderijos, nem se lembravam de dar uma olhada. Entre os que a haviam encontrado, uns poucos verificaram debaixo da cama primeiro... mas a maioria deixara por último.
Outra gota vermelha caiu no tapete, como se o monstro pudesse estar derramando lentas lágrimas de sangue.
Ele foi para a porta do closet.
Chyna teve de virar um pouco a cabeça e esticar o pescoço para acompanhá-lo.
O closet era profundo, e uma lâmpada pendia do centro do teto. Ela ouviu o estalido característico do interruptor de corrente sendo puxado, depois o retinir dos elos da corrente de metal batendo contra a lâmpada.
Os Templeton guardavam suas malas no fundo daquele closet. Guardadas com as outras, a bolsa e a mala de Chyna não pareciam ser a bagagem de uma provável hóspede instalada ali.
Ela trouxera várias mudas de roupas: dois vestidos, duas saias, outro jeans, uma calça caqui, um blusão de couro. Como Chyna era do mesmo tamanho de Latira, o intruso podia concluir que os poucos trajes pendurados eram apenas sobras do closet entulhado do quarto de Laura, não indicações da presença de uma hóspede.
Mas se ele estivera no quarto de Laura e vira o estado de seu closet... então o que acontecera com Laura?
Chyna não deveria pensar a respeito. Não agora. Ainda não. No momento, precisava concentrar todos os seus pensamentos e energias em permanecer viva.
Dezoito anos antes, na noite de seu oitavo aniversário, num chalé à beira-mar em Key West, Chyna espremera-se embaixo da cama para se esconder de Jim Woltz, o amigo de sua mãe. Uma tempestade chegara do Golfo do México, e os relâmpagos que clareavam o céu a deixaram com medo de fugir para o santuário da praia, onde se refugiara em outras noites. Depois de se meter no espaço apertado embaixo da cama de ferro, mais baixa do que a da casa dos Templeton, Chyna descobrira que compartilhava o lugar com um besouro de palmito. Os besouros de palmito não são tão exóticos ou bonitos quanto seu nome. Na verdade, não passam de enormes baratas tropicais. O que estava ali era grande como a mão da menina. Em circunstâncias normais, o abominável besouro teria fugido à sua aproximação, mas parecia menos assustado com ela do que com o irado e trovejante Jim Woltz, que quebrava as coisas no pequeno quarto em sua fúria de embriaguez, trombando com os móveis e as paredes, como um animal enjaulado a se lançar contra as barras de ferro. Chyna estava descalça, vestia apenas um short azul e um top branco. O besouro de palmito andara freneticamente por toda a sua pele exposta, sobre os dedos dos pés, subindo e descendo pelas pernas nuas, atravessando suas costas, contornando o pescoço, entrando por seus cabelos, percorrendo o braço magro. Ela não ousava gritar de repulsa, com medo de atrair a atenção de Woltz. Ele estava desvairado naquela noite, como um monstro saído de um pesadelo, e Chyna convencera-se de que, como todos os monstros, Woltz possuía uma visão e uma audição sobrenaturais, excelente para caçar crianças. Ela nem tivera coragem de dar um tapa no besouro, com medo de que Woltz ouvisse o menor som, mesmo com o barulho da tempestade, das trovoadas sucessivas. Suportara as atenções do besouro para evitar as de Woltz, cerrando os dentes para reprimir um grito, rezando desesperada para que Deus a salvasse, e depois rezando com mais fervor ainda para que Deus a levasse, rezando por um fim para seu tormento mesmo que fosse por meio de um raio, um fim para o tormento, um fim, meu Deus, um fim.
Agora, embora não estivesse partilhando o espaço sob a cama com nenhum inseto, Chyna podia sentir um bicho rastejando pelos dedos do pé, como se fosse de novo aquela menina descalça, subindo por suas pernas como se usasse um short de algodão, não um jeans. Nunca mais usara cabelos compridos desde a noite de seu oitavo aniversário, quando o besouro se infiltrara em suas trancas, mas agora sentia o fantasma daquele bicho rastejar por seus cabelos curtos.
O homem no closet, talvez capaz de atrocidades infinitamente piores que os sonhos mais depravados de Woltz, puxou a corrente. A luz se apagou com um estalido, seguido pelo retinir da corrente.
Os pés com botas reapareceram e se aproximaram da cama. Uma nova gota de sangue refulgia sobre o couro preto da bota.
Ele ia se abaixar, apoiado num joelho, ao lado da cama.
Oh, Deus, ele vai me encontrar, encolhida como uma criança, sufocando com meu próprio grito reprimido, suando frio, com toda a dignidade perdida na luta desesperada para permanecer viva, incólume e viva, incólume o viva.
Chyna teve a louca sensação de que quando o intruso se abaixasse para fitá-la embaixo da cama ele não seria um homem, mas um besouro de palmito de olhos pretos multifacetados.
Fora reduzida ao desamparo da infância, ao medo total que esperava nunca mais vivenciar. Aquele homem roubara dela o amor-próprio que conquistara em anos de resistência — ao qual fizera jus —, e a injustiça da situação encheu seus olhos de lágrimas amargas.
Mas as botas manchadas de sangue logo se afastaram da cama e continuaram em movimento. Ele se encaminhou para a porta aberta.
O que quer que ele tenha pensado sobre as roupas penduradas no closet, aparentemente não deduziu que o quarto de hóspedes estava ocupado.
Chyna piscou, furiosa, desanuviando a vista.
O homem parou e virou-se, analisando o quarto pela última vez.
Para evitar que ele ouvisse suas exalações frágeis de criança, Chyna prendeu a respiração.
Ficou aliviada por não usar perfume. Tinha certeza de que ele a encontraria pelo olfato.
O homem desligou a luz, saiu para o corredor e fechou a porta.
Seus passos afastaram-se por onde viera, pois o quarto dela era o último do segundo andar. O som logo se desvaneceu, abafado pelas batidas fortes do coração de Chyna.
Sua primeira tendência era permanecer naquele espaço estreito até o dia raiar; talvez mais ainda: esperar por um silêncio prolongado que não mais lembrasse a imobilidade de um predador pronto para dar o bote.
Mas ela não sabia o que acontecera a Laura, Paul ou Sarah. Algum deles — ou todos — poderia estar vivo, com ferimentos terríveis, mas ainda respirando. O intruso talvez os mantivesse vivos para poder torturá-los sem pressa. Os jornais costumavam noticiar histórias de crueldade não muito piores que os possíveis roteiros que agora se desenrolavam com absoluta nitidez em sua mente. E se algum dos Templeton ainda estivesse vivo, Chyna poderia ser sua única esperança de sobrevivência.
Ela sentira menos medo ao sair de todos os esconderijos da infância que ao deslizar hesitante de baixo da cama. Claro que ela tinha mais a perder agora do que antes de fugir da mãe, há dez anos: uma vida decente, baseada em uma década de luta incessante e amor-próprio duramente conquistado. Parecia loucura assumir esse risco quando teria segurança garantida se permanecesse escondida. Mas segurança pessoal à custa de outros era covardia, e a covardia era um direito concedido apenas a crianças pequenas, que precisam de alguém forte e experiente para defendê-las.
Ela não podia recuar para o isolamento defensivo da infância. Isso acarretaria a perda de seu amor-próprio, um suicídio em câmera lenta. Não se pode recuar para um poço sem fundo... só se pode despencar.
Chyna saiu do esconderijo e agachou-se ao lado da cama. Durante algum tempo, foi o máximo que conseguiu fazer. Estava paralisada pela possibilidade de a porta se abrir e o intruso entrar no quarto outra vez.
A casa era tão desprovida de eco quanto uma lua sem atmosfera.
Chyna ficou de pé e atravessou o quarto escuro sem fazer barulho. Incapaz de olhar para as três gotas de sangue no tapete, tentou contornar o lugar onde haviam caído.
Encostou o ouvido esquerdo na fresta entre a porta e o umbral, atenta a qualquer movimento ou respiração no corredor. Nada ouviu, mas continuou desconfiada.
Ele podia estar do outro lado da porta. Sorrindo. Divertindo-se ao pensar que ela tentava ouvi-lo. Deixando o tempo passar. Paciente porque sabia que ela acabaria abrindo a porta e cairia em seus braços.
Orai, que se dane!
Chyna pôs a mão na maçaneta, girou-a, cautelosa, e estremeceu quando a lingüeta recuou suavemente. Pelo menos as dobradiças estavam bem lubrificadas; não rangeriam.
Mesmo na escuridão a que sua visão não se readaptara por completo, ela pôde constatar que não havia ninguém à sua espera. Saiu do quarto e tornou a fechar a porta, em silêncio.
O quarto de hóspedes ficava no lado mais curto do corredor em forma de L do segundo andar. A direita ficava a escada dos fundos, que descia para a cozinha; à esquerda, a curva que levava ao lado mais comprido do L.
Chyna excluiu a escada dos fundos. Descera por ali antes, quando saíra com Laura para passear pelo vinhedo. Era de madeira e gasta. Os degraus rangiam e estalavam. O poço da escada funcionava como amplificador, sonoro e eficiente como um tambor de aço. Com a casa naquele silêncio sobrenatural, seria impossível descer pela escada dos fundos sem ser descoberta.
Por outro lado, o corredor do segundo andar e a escada da frente eram cobertos por um grosso tapete.
Perto do canto, em algum ponto do corredor principal, havia um suave brilho âmbar. No papel de parede, a delicada estampa de rosas esmaecidas parecia absorver a luz em vez de refleti-la, adquirindo uma profundidade enigmática que não possuía antes.
Se o intruso estivesse parado entre a junção dos corredores e a fonte da luz, teria projetado uma sombra distorcida através daquele jardim de papel luminoso ou no tapete dourado. Não havia nenhuma sombra.
De costas contra a parede, Chyna foi até o canto, hesitou e depois inclinou-se para um reconhecimento do local. O corredor principal estava vazio.
Duas fontes de luz âmbar atenuavam a escuridão. A primeira vinha de uma porta entreaberta à direita: a suíte de Paul e Sarah. A segunda .ficava mais adiante pelo corredor, depois da escada da frente, à esquerda: o quarto de Laura.
Todas as outras portas pareciam fechadas. Chyna não sabia o que havia por trás delas. Talvez outros quartos, um banheiro, um escritório, closets. Embora se sentisse mais atraída — e com mais medo — para os quartos iluminados, cada porta fechada também representava um perigo.
O silêncio insondável fê-la pensar que o intruso já se fora. Mas era uma tentação a que devia resistir.
Ela seguiu adiante, portanto, pelo caramanchão de papel com rosas impressas até a porta entreaberta da suíte principal. Ali, na porta, hesitou.
Quando descobrisse o que esperava por ser descoberto, todas as suas ilusões de ordem e estabilidade poderiam se dissolver. A verdade da vida podia se reafirmar, depois de dez anos em que a negara de forma sistemática: o caos, como o:fluxo de um regato de mercúrio, com seu curso imprevisível.
O homem de jeans e botas pretas poderia ter retornado à suíte; principal depois de deixar o quarto de hóspedes, mas era mais provável que não. Outras:diversões na casa lhe seriam sem dúvida mais atraentes.
Com receio de permanecer no corredor por tempo demais, Chyna esgueirou-se para dentro da suíte, sem empurrar mais a porta.
O quarto de Paul e Sarah era espaçoso. Uma área de estar incluía duas poltronas e bancos para os pés, na frente de uma lareira. Estantes com livros de capa dura ladeavam o consolo, os títulos perdidos nas sombras.
Os abajures nas mesinhas de cabeceira eram potes coloridos, com copas pregueadas. Um deles estava aceso; listras e borrões vermelhos manchavam a copa.
Chyna parou um pouco antes do pé da cama, já bastante perto para ver tudo. Nem Paul nem Sarah se encontravam ali, mas as cobertas estavam em desordem, emaranhadas, caindo para o chão no lado direito da cama. No lado esquerdo, as roupas de cama estavam encharcadas de sangue, pingos úmidos cintilavam na cabeceira e num arco pela parede.
Ela fechou os olhos. Ouviu alguma coisa. Virou-se, meio agachada, na expectativa de um ataque. Mas estava sozinha.
O barulho sempre estivera lá, ao fundo, o ruído de água caindo. Não o ouvira ao entrar no quarto porque ficara aturdida pelas manchas de sangue, tão clamorosas quanto os gritos irados de uma turba enfurecida. Sinestesia. A palavra ficara de um texto de psicologia, mais porque ela julgara que era um bela disposição de sílabas do que por imaginar que algum dia poderia vivenciá-la. Sinestesia: uma confusão dos sentidos em que um cheiro podia se registrar como um lampejo de cor, um som podia ser percebido como um cheiro e a textura de uma superfície sob a mão podia parecer um grito ou uma risada estridente.
Ao fechar os olhos, ela bloqueara o clamor das manchas de sangue, e assim ouvira o ruído da água caindo. Reconheceu-o agora como sendo o som do chuveiro no banheiro ao lado.
A porta estava entreaberta cerca de um ou dois centímetros. Pela primeira vez desde que viera do corredor, Chyna notou a réstia fina de luz fluorescente no umbral do banheiro.
Quando desviou o olho dessa porta, relutante em confrontar o que podia encontrar além, avistou o telefone na mesinha de cabeceira da direita. Era o lado da cama sem sangue, o que o tornava mais acessível.
Ela tirou o fone do gancho. Nenhum sinal de linha. Também não esperava ouvi-lo. Nada era assim tão fácil.
Chyna abriu a única gaveta da mesinha de cabeceira, esperando encontrar ali um revólver. Não teve essa sorte.
Ainda convencida de que sua única esperança de segurança estava em se movimentar, que rastejar para um buraco e se esconder deveria ser sempre a estratégia de último recurso, Chyna contornou a cama enorme, antes de compreender que dera um primeiro passo. O tapete estava todo ensangüentado em frente à porta do banheiro.
Fazendo uma careta, ela se adiantou até a segunda mesinha de cabeceira e puxou a gaveta. Na sinistra claridade, descobriu óculos de leitura, com reflexos amarelos nas lentes bifocais, um romance de aventura, uma caixa de lenços de papel e um tubo de pomada para os lábios, mas nenhum revólver. Ao fechar a gaveta, sentiu um cheiro de pólvora queimada em meio ao fedor intenso de sangue fresco.
Conhecia aquele odor. Ao longo dos anos, não foram poucos os amigos de sua mãe que haviam usado revólveres para conseguir o que queriam ou que, no mínimo, se mostravam fascinados por armas de fogo.
Chyna não ouvira tiros. Era evidente que o intruso tinha uma arma equipada com silenciador.
A água continuava a cair do chuveiro atrás da porta. Aquele ruído sussurrante, embora suave e tranqüilizador em outras circunstâncias, agora abalava seus nervos com a eficácia do zunido de uma broca de dentista.
Ela tinha certeza de que o intruso não estava no banheiro. Já concluíra seu trabalho ali e se ocupava com qualquer coisa em outro ponto da casa.
Naquele instante, Chyna não se sentia tão assustada com o homem quanto em descobrir o que exatamente ele fizera. Mas sua opção era a essência de toda a agonia humana: não saber era, em última análise, pior do que saber.
Ela acabou empurrando a porta. Com os olhos fechados, avançou pelo clarão fluorescente.
O banheiro amplo tinha ladrilhos brancos e amarelos. Nas paredes, por cima da pia e do balcão de maquiagem, havia uma faixa de ladrilhos decorativos, mostrando narcisos e folhas verdes. Chyna esperava encontrar mais sangue.
Paul Templeton estava sentado no vaso, de pijama azul. Pedaços de uma fita adesiva larga o prendiam ali. Mais pedaços de fita contornavam seu peito e o cano grosso situado acima do vaso, mantendo-o ereto.
Podia-se ver, através das fitas semitransparentes, três ferimentos de bala em seu peito. Podia haver mais de três. Chyna não se deu ao trabalho de procurar nem precisava saber. Parecia ter tido morte instantânea, provavelmente enquanto dormia. Já estava morto quando foi levado para o banheiro.
O desespero invadiu Chyna, frio e sinistro. Mas a sobrevivência exigia que o reprimisse a qualquer custo, e sobreviver era o que ela fazia melhor.
Um colar de fita adesiva em torno do pescoço era como uma coleira que o prendia a um porta-toalhas, na parede ao lado. O propósito era impedir que a cabeça pendesse para a frente, sobre o peito... e orientar seu olhar morto para o chuveiro. As pálpebras mantinham-se abertas, seguras por fita adesiva, e no olho direito havia uma grave hemorragia.
Chyna estremeceu e desviou os olhos.
Embora precisasse matar Paul durante o sono para assumir de imediato o controle da casa, o intruso fantasiara em seguida que o marido era obrigado a observar as atrocidades cometidas contra sua esposa.
Era um quadro clássico, muito apreciado pelos sociopatas que adoram se exibir diante de suas vítimas. Pareciam acreditar que por algum tempo os mortos recentes ainda podiam ver e ouvir, eram capazes de admirar as excentricidades, o que lhes permitia posarem de algozes que não temiam Deus nem o homem. Numa de suas aulas sobre psicopatologia, na Universidade da Califórnia, em San Francisco, um representante do departamento de ciências do comportamento do FBI fizera descrições mais vividas de tais cenas do que qualquer livro poderia fornecer.
Num testemunho pessoal, no entanto, o impacto dessa brutalidade era pior do que as palavras conseguiam transmitir. Quase paralisante. Chyna sentia as pernas pesadas e rígidas. Suas mãos formigavam, em um princípio de dormência.
Sarah Templeton estava dentro do boxe do chuveiro, que era separado da banheira. Embora a porta estivesse fechada — e embaçada —, Chyna conseguia perceber tênues contornos, vagamente róseos, de um corpo caído no chão do boxe.
O assassino escrevera duas palavras na parede acima da porta do boxe — Puta nojenta- — tendo utilizado aparentemente um lápis de sobrancelha.
Chyna jamais desejou tanto uma coisa quanto se livrar da obrigação de olhar dentro daquele boxe. Com toda certeza, Sarah não podia estar viva.
Mas se saísse sem constatar que a mulher se encontrava além de qualquer possibilidade de ajuda, uma culpa irremediável faria com que sua própria sobrevivência se tornasse apenas uma espécie de morte em vida.
Além disso, ela empenhara sua vida em tentar compreender aquele aspecto da crueldade humana, e nenhum caso publicado jamais a levaria tão perto da compreensão quanto as coisas que via ali. Naquela casa, naquela noite, a paisagem desolada da mente sociopática havia se manifestado.
A água caindo ressoava entre as paredes ladrilhadas como o silvo de serpentes e risadas frágeis de estranhas crianças.
A água devia estar fria. Caso contrário, o vapor estaria sendo exalado por cima do boxe.
Chyna prendeu a respiração, segurou a alça de alumínio anodizado e abriu a porta.
Sarah Templeton dormia com um baby-doll verde-daro, que estava agora embolado e encharcado no canto do boxe.
Depois que o marido fora baleado, a mulher devia ter sido golpeada até ficar inconsciente, talvez com a coronha da arma. Fora amordaçada em seguida; ainda tinha as faces estufadas pelo pano que lhe fora enfiado na boca. Tiras de fita adesiva haviam selado seus lábios, mas agora, sob a água fria que não parava de cair, elas começavam a desgrudar da pele.
Com Sarah, o assassino usara uma faca.
Chyna fechou a porta do boxe.
Se houvesse um mínimo de misericórdia neste mundo, Sarah Templeton nunca recuperaria os sentidos depois de haver ficado inconsciente.
Ela se lembrou do abraço que Sarah lhe dera ao chegar com Laura. Tratou de conter as lágrimas, desejou ter morrido no lugar daquela preciosa mulher que estava no boxe. E a verdade é que já se sentia meio morta, menos viva a cada minuto que passava, porque uma parte de seu coração morrera com cada uma daquelas pessoas.
Chyna voltou ao quarto. Afastou-se da cama, mas não seguiu de imediato para a porta do corredor. Em vez disso, ficou parada no canto mais escuro, com um tremor incontrolável.
Sentia o estômago embrulhado. A acidez ardia por todo o peito, um gosto amargo enchia o fundo da boca. Conteve um impulso de vômito. O assassino poderia ouvi-la e vir em seu encalço.
Embora só tivesse se encontrado pessoalmente com os pais de Laura na tarde anterior, Chyna já os conhecia pelas pitorescas histórias que a amiga contava da família. Deveria sentir um pesar ainda maior, mas no momento tinha apenas uma pequena capacidade para isso. Mais tarde seria atingida por ele com todo o impacto. O pesar viceja em corações tranqüilos, e o dela trovejava com terror e repulsa
Estava chocada por descobrir que o assassino causara tantos danos enquanto ela se sentava, sem perceber nada, perto da janela do quarto de hóspedes, contemplando as estrelas e pensando em outras noites, quando as admirara de telhados, árvores e praias. Pelo que podia calcular, ele demorara dez ou quinze minutos com Paul e Sarah, antes de revistar o resto da casa enorme para encontrar e dominar os demais moradores.
Às vezes um homem assim sente uma emoção especial em correr o risco da interrupção, até mesmo da captura. Talvez uma criança meio adormecida e aturdida fosse atraída ao quarto dos pais por alguma perturbação, para depois ser perseguida e alcançada antes de escapar da casa. Tais possibilidades aguçavam o prazer que o desgraçado tinha ao cometer os crimes no quarto e no banheiro.
Aquilo era um prazer para ele. Uma compulsão, mas não do tipo que o levava ao desespero. Uma diversão. Recreação. Sem culpa, portanto sem angústia. A selvageria o alegrava.
Agora, em algum lugar da casa, ele estaria se divertindo ou descansando até sentir-se pronto para recomeçar o jogo.
Enquanto se desvanecia em calafrios, Chyna foi temendo cada vez mais por Laura. Aqueles gritos abafados, minutos antes, haviam soado com certeza depois que Sarah já tinha morrido. Portanto, Laura devia ter sido surpreendida enquanto dormia por um homem recendendo ao sangue de sua mãe. Depois de dominá-la e imobilizá-la, ele se apressara em revistar o resto do segundo andar, preocupado com que mais alguém da família pudesse ter ouvido os gritos sufocados.
Talvez não tivesse se dirigido imediatamente para Laura. Não tendo encontrado ninguém nos outros quartos, confiante de que a casa estivesse sob seu controle, era mais que provável que ele iniciasse uma revista do local. Assim como nos livros, o assassino desejaria violar todos os espaços privados. Examinaria o conteúdo dos closets, as gavetas da escrivaninha; pegaria comida na geladeira; leria a correspondência. Talvez cheirasse as roupas sujas no cesto na lavanderia. Se encontrasse a coleção de fotos da família, poderia até se sentar por uma hora ou mais, divertindo-se com os álbuns.
Mais cedo ou mais tarde, no entanto, ele se voltaria para Laura.
Sarah Templeton fora uma mulher bastante atraente, mas visitantes noturnos como aquele homem sentiam-se atraídos pela juventude; alimentavam-se da inocência. Laura era sua caça preferida, tão irresistível quanto ovos de passarinho roubados por serpentes que sobem em árvores.
Quando finalmente superou a terrível náusea e teve certeza de que não revelaria sua presença por um súbito acesso de vômito, Chyna saiu do canto e atravessou o quarto em silêncio.
De qualquer forma, não estaria segura na suíte principal. Antes de o visitante se retirar, era bem provável que voltasse ali para dar uma última olhadela na pobre Sarah sob o chuveiro ligado, os braços esguios cruzados numa patética e inútil postura de defesa.
Na porta entreaberta Chyna parou para escutar.
No outro lado do corredor, as rosas esmaecidas no papel de parede pareciam mais misteriosas que nunca. O desenho possuía tamanha profundidade enigmática que ela quase se convenceu de que poderia afastar as trepadeiras e passar daquele caramanchão de papel para um reino ensolarado em que descobriria, ao olhar para trás, que aquela casa não existia.
Com a luz do abajur acesa na mesinha de cabeceira atrás dela, seria impossível passar despercebida pela porta e espiar à esquerda e à direita, pois assim que saísse do quarto projetaria uma sombra sobre as rosas no outro lado do corredor. Seria perigoso se demorar naquele inevitável anúncio de sua presença.
Seduzida por um silêncio prolongado que parecia prometer segurança, Chyna finalmente esgueirou-se entre a porta entreaberta e o umbral, saindo para o corredor... e lá estava ele. A três metros de distância. Perto da escada da frente, que ficava à direita. De costas para ela.
Já meio no corredor, Chyna ficou paralisada. Se o homem se virasse, ela não conseguiria se esconder antes que ele a vislumbrasse pelo canto dos olhos... mas mesmo assim ela se viu incapaz de qualquer movimento, enquanto ainda havia uma chance de evitá-lo. Tinha medo de fazer algum barulho; ele poderia ouvir e virar-se. Até mesmo o mais leve sussurro das fibras do tapete, comprimidas sob seus pés, atrairia a atenção do assassino.
O visitante fazia uma coisa tão bizarra que Chyna se sentiu paralisada por sua atitude tanto quanto pelo medo. Ele erguia as mãos à sua frente, tão alto quanto podia alcançar, e os dedos abertos penteavam languidamente o ar. Parecia em transe, como se tentasse captar impressões psíquicas do éter.
Era um homem enorme. Um metro e noventa, talvez mais alto. Musculoso. Cintura estreita, ombros largos. O casaco de brim esticava-se todo nas costas imensas.
Os cabelos eram abundantes e castanhos, aparados na nuca. Chyna não via o rosto dele. E torcia para que isso nunca acontecesse.
Os dedos que se mexiam no ar, manchados de sangue, pareciam muito fortes. Ele seria capaz de sufocá-la até a morte com uma única mão.
— Venha para mim — murmurou ele.
Mesmo num sussurro, a voz áspera possuía um timbre e uma força que eram magnéticos.
— Venha para mim.
Dava a impressão de que se dirigia não a uma visão que era o único a ver, mas a Chyna, como se seus sentidos fossem tão aguçados que tivesse percebido sua presença apenas pelo movimento do ar que ela deslocara ao sair em silêncio pela porta.
Então ela viu a aranha. Pendia do teto por um filamento de teia, trinta centímetros acima das mãos estendidas do assassino.
— Por favor.
Como se respondesse ao pedido do homem, a aranha soltou mais um pouco de fio e desceu.
O assassino parou de se esticar, virou a palma da mão para cima.
— Venha, pequena — sussurrou ele.
Gorda e preta, a obediente aranha pousou na enorme palma aberta. O assassino levou a mão à boca e inclinou a cabeça um pouco para trás. Esmagou a aranha e comeu-a — ou comeu-a viva.
Ficou imóvel por um instante, saboreando-a.
Depois, sem olhar para trás, foi até a escada à direita, no meio do corredor, e desceu para o andar térreo, quase com a rapidez e o silêncio da aranha.
Chyna estremeceu, aturdida por estar viva.
A casa tinha a quietude profunda da água contida por uma barragem, com tremenda força e pressão acumuladas.
Quando encontrou coragem para se mover, Chyna encaminhou-se cautelosamente para o alto da escada. Receava que o visitante não tivesse descido — que estivesse apenas brincando com ela, mantendo-se oculto, esperando, sorrindo, até o momento em que se voltaria para ela, com as palmas viradas para cima, e diria "Venha para mim".
Ela prendeu a respiração, assumiu o risco de ser descoberta e olhou para baixo. A escada fazia uma curva na escuridão crescente que levava ao vestíbulo, lá embaixo. Dava para ver apenas o suficiente para ter certeza de que o homem não se encontrava ali.
Até onde Chyna podia perceber, não havia luzes acesas no térreo. Ela se perguntava o que o assassino estaria fazendo, guiado apenas pelo pálido luar que entrava pelas janelas. Talvez estivesse num canto, agachado como uma aranha, sensível às mais sutis mudanças no padrão do ar, sonhando com a aproximação silenciosa e o dilaceramento frenético da presa.
Ela passou depressa pelo alto da escada, para a última parte do corredor, a caminho da outra porta aberta, a segunda fonte de claridade âmbar, temendo o que poderia encontrar. Mas era capaz de lidar com o temor e também com a descoberta. Era sempre não saber, desviar-se da verdade, que causava os suores noturnos e pesadelos.
Aquele quarto era menor do que a suíte principal, sem área de estar. Uma escrivaninha no canto. Cama de casal. Uma mesinha de cabeceira com um abajur de latão, uma cômoda, uma penteadeira com um banco acolchoado.
Na parede acima da cama havia um retrato grande de Freud. Chyna detestava Freud. Mas Laura, generosa e idealista, apegava-se a sua convicção em muitos aspectos da teoria freudiana; abraçava o sonho de um mundo sem culpa, em que todos seriam vítimas do passado conturbado e ansiariam por reabilitação.
Laura estava deitada na cama, o rosto virado para baixo, por cima dos lençóis e das cobertas. Tinha os pulsos algemados nas costas. Outro par de algemas prendia seus tornozelos. Uma corrente de aço ligava as algemas.
Ela fora estuprada. A calça do pijama azul folgado fora cortada de maneira meticulosa, digna de um alfaiate caprichoso. As tiras de pano azul haviam sido esticadas sobre as cobertas, ao lado de Laura. A blusa do pijama, levantada pelas costas, agora se acumulava em dobras amarrotadas sobre os ombros e a nuca.
Chyna avançou pelo quarto, seu medo agora igualado por um profundo pesar, que parecia estufar seu coração, mas ao mesmo tempo o deixava frio e vazio. Quando sentiu um tênue odor de sêmen derramado, o medo e o pesar foram suplantados pela raiva. Ao se agachar ao lado da cama, as mãos se contraíram em punhos, apertadas de tal maneira que as unhas se cravaram nas palmas.
Os cabelos louros encharcados de suor grudavam-se no rosto de Laura. As feições delicadas estavam pálidas e franzidas de ansiedade e os olhos fechados, apertados com toda força.
Ela não estava morta. Isso mesmo, não estava morta. Parecia impossível.
A menina — o terror a reduzira à condição de uma menina — murmurava tão baixo que as palavras não eram ouvidas mesmo a uma distância de poucos centímetros, mas o tom era tão urgente que o significado doloroso se tornava evidente. Era uma oração, a mesma que Chyna recitara em numerosas noites, há muito tempo: uma prece por misericórdia, uma súplica para se livrar daquele horror viva e incólume — oh, Deus, por favor, viva e incólume.
Naquelas outras noites, Chyna fora poupada do estupro e da morte. A metade do pedido de Laura já não fora atendido.
A garganta de Chyna se contraía numa angústia tão profunda que ela mal conseguiu falar:
— Sou eu.
As pálpebras de Laura se abriram, os olhos azuis se reviraram como os de um cavalo aterrorizado, arregalados de incredulidade.
— Todos mortos.
— Psiu... — sussurrou Chyna.
— Sangue. Nas mãos dele.
— Fale baixo. Vou tirá-la daqui.
— Fedia a sangue. Jack morreu. Nina. Todos.
Jack, o irmão que Chyna não conhecera. Nina, a cunhada. Obviamente, o assassino passara pelo bangalô antes de vir para a casa principal do vinhedo. Quatro mortos. Não se poderia contar com ajuda de nenhuma parte da extensa propriedade.
Chyna olhou preocupada para a porta aberta, depois ergueu-se apressada para verificar as algemas nos pulsos de Laura. Trancadas.
Com as mãos e os tornozelos algemados, ligados por uma corrente, Laura ficara imobilizada. Não conseguiria nem se levantar, muito menos andar.
E Chyna não tinha força suficiente para carregá-la.
Ela viu seu reflexo no espelho da penteadeira, no outro lado do quarto, e compreendeu com um choque como seu terror se revelava por completo no rosto contorcido.
Chyna fez um esforço para parecer mais controlada, pelo bem de Laura, e tornou a se abaixar ao lado da cama. Falou tão baixo quanto a amiga estivera rezando:
— Tem um revólver?
— Como?
— Tem um revólver na casa?
— Não.
— Em nenhum lugar da casa?
— Não, não.
— Merda!
— Jack.
— O que há com Jack?
— Ele tem.
— Um revólver? No bangalô?
— Jack tem um revólver.
Chyna não teria tempo para ir ao bangalô e voltar antes de o assassino retornar ao quarto de Laura. Além disso, era mais do que provável que ele já tivesse encontrado a arma e se apossado dela.
— Sabe quem é ele?
— Não. — Os olhos azul-celestes de Laura escureceram-se em desespero. — Saia daqui.
— Encontrarei uma arma.
— Vá embora! — sussurrou Laura, num tom mais urgente, um suor frio brilhando na testa.
— Uma faca — disse Chyna.
— Não morra por mim. — Depois insistiu, a meia-voz , trêmula mas veemente: — Fuja, Chyna. Pelo amor de Deus, fuja!
— Vou voltar.
— Fuja!
Houve um súbito som lá fora. O motor de um caminhão. Aproximando-se. Atônita, Chyna levantou-se.
— Está vindo alguém. Vou pedir ajuda.
O quarto de Laura ficava na frente da casa. Chyna foi até a mais próxima das duas janelas, que oferecia uma vista do caminho de menos de um quilômetro que saía da estrada rural.
A meio quilômetro de distância, faróis altos cortavam a noite. A julgar pela altura dos faróis, Chyna concluiu que o caminhão era grande.
Era milagroso que alguém aparecesse àquela hora, naquele lugar solitário.
Um ímpeto de esperança aflorou em Chyna, ao mesmo tempo em que compreendia que o assassino também ouviria o motor. O homem ou homens no caminhão não saberiam do perigo que corriam. Quando parassem na frente da casa, seriam mortos sem nenhuma chance de escapar.
— Fique me esperando.
Ela encostou a mão na testa úmida de Laura para tranqüilizá-la e depois atravessou o quarto até a porta, deixando a amiga sob o olhar presunçoso e sombrio de Sigmund Freud.
O corredor estava vazio.
Chyna apressou-se para o alto da escada curva, hesitou em descer para o tenebroso covil lá embaixo, mas logo concluiu que não havia outro lugar para ir. Desceu o mais depressa possível sem se apoiar no corrimão. Manteve-se afastada da balaustrada, onde ficaria muito exposta. Junto à parede era melhor.
Passou por uma série de enormes quadros de paisagens, em molduras ornamentadas, que quase pareciam janelas para a vista campestre. Antes, pareceram cenas alegres e coloridas. Agora haviam se tornado agourentas: florestas-de duendes, rios sinistros, campos assassinos.
O vestíbulo. Um tapete oval sobre o assoalho de carvalho encerado. Atrás da porta fechada, à direita, ficava o escritório de Paul Templeton. Depois da arcada, à esquerda, estendia-se a escura sala de estar.
O assassino poderia estar em qualquer parte.
Lá fora, o barulho do caminhão aumentou. Quase chegava à casa. O motorista seria fuzilado através do pára-brisa no instante em que parasse. Ou metralhado quando saltasse.
Chyna tinha de alertá-lo, não apenas pelo bem do desconhecido, mas também por si mesma, por Laura. Aquele homem era a única esperança das duas.
Certa de que o intruso comedor de aranha se mantinha por perto, ela esperava um ataque brutal a qualquer instante, mas mesmo assim abandonou a cautela e voou para a porta da frente. O tapete oval deslizou sob seus pés. Chyna perdeu o equilíbrio, estendeu as mãos para amortecer a queda e bateu com as palmas na porta da frente.
O barulho, infernal, ressoou pela casa, e com certeza atrairia a atenção do assassino, distraindo-o do caminhão que se aproximava.
Chyna tateou, encontrou a maçaneta, virou-a. A porta estava destrancada. Ofegante, abriu-a.
Uma brisa fria soprava do noroeste, impregnada do cheiro de terra recém-revolvida e de fungicida, assobiando entre os galhos desfolhados dos bordos que ladeavam o caminho. Uivando como uma matilha de cães, passou por Chyna e entrou pelo vestíbulo, enquanto ela saía para a varanda.
O caminhão já passara pela casa e se afastava. Voltaria após fazer o contorno no final do caminho, que era bastante largo para acomodar os caminhões que vinham buscar a produção na época da colheita. Só que não era um caminhão. Era um trailer. Um modelo mais antigo, com linhas arredondadas, bem conservado, com doze metros de comprimento, azul ou verde. As partes cromadas faiscavam como mercúrio sob a lua do final do inverno.
Espantada por ainda não ter sido apunhalada, baleada ou agredida pelas costas, olhando para a porta aberta, por onde o assassino ainda não aparecera, Chyna dirigiu-se aos degraus da varanda.
O trailer chegou ao final do caminho e começou a voltar. Os faróis iluminaram o estábulo e as outras dependências do vinhedo.
Diante dos faróis, estendiam-se sombras de lariços, bordos e outras árvores. Os faróis brilhavam na treliça na extremidade da varanda, ao longo da balaustrada branca, através do gramado e da passagem de pedra, estendendo-se de maneira inacreditável, varando a noite como se tentassem furiosamente se livrar das árvores que os envolviam.
O silêncio profundo na casa, a ausência de luzes acesas no andar de baixo, o fato de o assassino não tê-la atacado ao escapar, a chegada oportuna do trailer... de repente todas essas coisas faziam um sentido aterrador. O assassino guiava o trailer.
— Não!
Chyna recuou apressada dos degraus da varanda, tornou a entrar no vestíbulo.
Iluminando os calcanhares dela, os faróis concluíram a curva. Penetraram pela treliça, projetando desenhos geométricos no chão da varanda e na fachada da casa.
Ela fechou a porta e tateou à procura da pesada tranca que ficava acima da maçaneta. Encontrou-a, e trancou a porta.
Só depois percebeu seu erro. A porta da frente ficara destrancada porque o assassino saíra por ali. Se a encontrasse trancada agora, saberia que Laura não era a única pessoa viva na casa e a caçada começaria.
Os dedos suados escorregaram na tranca de latão, mas ela conseguiu puxá-la, com um forte estalido.
Anteriormente, ele devia ter estacionado o veículo no início do caminho que ligava a propriedade à estrada rural, seguindo a pé para a casa.
Os pneus rodavam agora pelo cascalho com um ruído peculiar. O freio hidráulico deixou escapar um chiado, e o trailer parou em frente à casa.
Chyna lembrou do tapete oval que quase a derrubara. Abaixou-se, alisou as dobras do tapete com as mãos. Se o assassino tropeçasse no tapete desarrumado, lembraria de que não estava daquela maneira quando saíra.
Soaram passos lá fora: saltos de botas ressoando no caminho de pedras.
Chyna levantou-se, avançou para o escritório. Não deveria ter feito isso. Não tinha como saber para onde ele iria quando entrasse na casa, e se fosse para o escritório a deixaria acuada.
Os passos ecoaram nos degraus de madeira da varanda.
Chyna correu pelo vestíbulo, passou pela arcada, entrou na escura sala de estar... e parou no instante seguinte, com receio de tropeçar nos móveis, derrubar algum. Andou mais devagar, com as mãos estendidas, a visão prejudicada pelas imagens fantasmas avermelhadas e turvas dos faróis do trailer, que ainda flutuavam em suas retinas.
A porta da frente se abriu.
Ainda no meio da sala de estar, Chyna abaixou-se por trás de uma poltrona. Se entrasse e acendesse as luzes, o assassino a veria.
Sem fechar a porta, o homem apareceu no vestíbulo, além da arcada. Era vagamente delineado pela claridade que vinha do corredor do segundo andar. Passou pela sala de estar e seguiu direto para a escada.
Chyna ainda não estava armada.
Pensou no atiçador da lareira. Não bastava. A menos que ela abrisse um buraco no crânio ou fraturasse o braço do homem ao primeiro golpe, ele tomaria dela o atiçador. Ela tinha a força provocada pelo terror, mas talvez não fosse o suficiente para o que precisava fazer.
Em vez de se levantar e correr às cegas pela sala de estar, ela permaneceu abaixada e rastejou, porque era mais seguro e mais rápido. Chegou à arcada da sala de jantar e se virou para o lado em que pensava encontrar a porta da cozinha.
Esbarrou numa cadeira. Que bateu na perna da mesa. Alguma coisa tremeu e fez barulho em cima da mesa, e ela se lembrou de ter visto frutas de cerâmica numa tigela de cobre.
Calculou que o homem não poderia ouvir esse ruído lá de cima, por isso continuou. De qualquer modo, nada havia a fazer senão seguir em frente, quer ele tivesse ouvido ou não.
Chegou à porta de vaivém antes do que esperava e levantou-se.
O luar que se infiltrava não proporcionava muita claridade, mas subitamente desapareceu, fazendo a pele da nuca de Chyna arrepiar-se numa sinistra expectativa. Ela virou-se, comprimindo as costas contra o umbral, convencida de que o assassino se encontrava por perto, logo atrás, na frente de uma janela, bloqueando o luar. Mas o homem não estava ali. O brilho prateado não mais coloria o vidro. Era evidente que as nuvens de tempestade, sopradas do noroeste desde antes de meia-noite, finalmente encobriam a lua.
Chyna empurrou a porta de vaivém e entrou na cozinha.
Não precisaria acender as luzes fluorescentes do teto. O forno de microondas tinha um relógio digital, com números verdes que irradiavam uma surpreendente quantidade de luz, o suficiente para que ela se movimentasse por ali.
Recordava ter visto um balcão de madeira para cortar carne ao lado das pias de aço inoxidável. As pias ficavam junto à mais larga das duas -anelas. Ela deslizou a mão sobre o balcão frio de granito até localizar a superfície de madeira.
O andar de cima parecia dominado por um silêncio ainda mais intenso.
O que o desgraçado está fazendo lá em cima com Laura, nesse silêncio, todo?
Sob o balcão de madeira havia uma gaveta, onde ela esperava encontrar facões.. E lá estavam, impecavelmente arrumados.
Chyna pegou um. Curto demais. Outro. A lâmina era larga, eom a extremidade arredondada. O terceiro era um facão de açougueiro. Ek testou o gume com o polegar e constatou que era bastante afiado.
Lá em cima, Laura gritou.
Chyna encaminhou-se para a porta da sala de jantar, mas sentiu intuitivamente que não deveria seguir por ali. Em vez disso, correu para a escada dos fundos, embora não pudesse subir sem fazer barulho.
Acendeu a luz na escada. O assassino não poderia vê-la ali.
No segundo andar, Laura tornou a gritar — um terrível gemido de desespero, dor, horror, como um grito dos que se costumava ouvir nas câmaras de gás venenoso em Dachau ou nas salas de interrogatório sem janelas de prisões siberianas, durante a época dos gulags. Não era um grito por ajuda nem mesmo uma súplica de misericórdia, mas um pedido para ser libertada a qualquer custo, mesmo que pela morte.
Chyna subiu a escada em direção ao grito que era como que um obstáculo, e ela se sentia uma mergulhadora empenhada em alcançar a superfície do mar, contra um enorme peso de água. Frio como uma corrente ártica, o grito deixou-a apavorada, atordoada, vibrou na medula de seus ossos. Foi invadida por uma compulsão de gritar com Laura, como um cachorro que uiva em compaixão quando ouve o sofrimento de outro, uma necessidade primordial de gemer de angústia pelo puro desamparo da existência humana num universo povoado por estrelas mortas, e ela teve de lutar para conter esse impulso.
O grito de Laura prolongou-se num chamado pela mãe, embora já devesse saber que Sarah morrera.
— Mamãe! Mamãe! Mamãããe!
Ela se encontrava reduzida a um bebê, apavorada demais com a vida para encontrar conforto em qualquer outro lugar que não fosse o seio materno e o som dos batimentos cardíacos conhecidos desde a vida intra-uterina.
E, depois, o súbito silêncio.
Um silêncio desolado.
No patamar da escada, na metade do caminho em direção ao segundo andar, Chyna surpreendeu-se ao perceber que o peso imponderável do grito a fizera parar. Sentia as pernas fracas,, os músculos das pernas e coxas tremiam como se tivesse acabado de correr uma maratona. Parecia a ponto de desfalecer.
Por poder significar o fim da esperança, o silêncio era agora tão opressivo quanto o grito. Ela curvou, a cabeça sob aquela quietude pesada como uma coroa de ferro, contraiu os ombros e se encolheu de angústia.
Seria muito fácil encostar-se na parede, deslizar o corpo para o chão, largar o facão e enroscar-se em atitude defensiva. Apenas esperar até que ele fosse embora. Esperar até que um parente ou amigo da família chegasse, descobrisse os corpos, chamasse a polícia, cuidasse de tudo.
Em vez disso, depois de uma pausa de poucos segundos no patamar da escada, Chyna forçou-se a continuar subindo, o coração batendo tão forte; que tinha a sensação de que cada pancada poderia derrubá-la.
Seus braços tremiam incontrolavelmente. Em sua mão, as articulações dos dedos esbranquiçadas, o facão delineava figuras irregulares no ar à sua frente. Chyna se perguntou se teria força, em qualquer confrontação, para furar e cortar com eficácia.
Mas esse era o pensamento de uma perdedora, e ela se odiou por isso. Durante os últimos dez anos transformara-se numa vencedora,, e estava determinada a não ter uma recaída.
A velha escada de madeira protestou sob seu peso, mas ela subiu depressa, indiferente ao barulho. Quer Laura estivesse viva ou morta, o assassino estaria, se divertindo, distraído com seus jogos, e era improvável que ouvisse qualquer coisa além do fluxo estrondoso do sangue nos ouvidos e as vozes interiores prementes que deviam lhe falar no instante em que tinha uma vida nas mãos.
Ela saiu para o corredor no segundo andar. Impulsionada pelo medo do que pudesse ter acontecido a Laura e por uma raiva nascida da repulsa por seu momento de fraqueza no patamar, passou apressada pela porta, fechada do quarto de hóspedes, a caminho da dobra no corredor em L. Passou pela porta entreaberta da suíte principal, com a luz âmbar que vinha lá de dentro. Passou também pelo caramanchão de rosas esmaecidas, a raiva se transformando em fúria enquanto avançava, chocada, com a própria audácia, com a sensação de que planava sobre o tapete, indo tão depressa como se descesse por uma encosta de gelo, direto para a porta aberta do quarto de Laura, sem hesitação, o facão erguido, o braço não mais tremendo, firme e seguro; enlouquecida pelo terror, pelo desespero e pela indignação, atravessou a porta e entrou no quarto, onde Freud mantinha-se impassível apesar do que acontecera diante de seus olhos... e onde a cama desarrumada estava vazia.
Chyna virou-se, incrédula. Laura desaparecera. O quarto estava deserto.
Por cima da respiração acelerada e o trovejar do coração, ouviu o retinido de uma corrente. Não no quarto. Em outro lugar.
Indiferente ao perigo, ela voltou ao corredor, foi até a balaustrada que dava para o vestíbulo.
Lá embaixo, mal iluminado pela claridade difusa do segundo andar, o assassino cruzava a porta aberta para a varanda. Carregava Laura nos braços. Ela estava envolta em um lençol, um braço pálido caído, a cabeça pendendo para um lado, o rosto coberto pelos cabelos dourados: inconsciente, sem oferecer nenhum tipo de resistência.
Ele devia estar descendo a escada escura quando Chyna passara pelo corredor. Ela se concentrara tanto em alcançar o quarto de Laura, pronta para o ataque, que nem o percebera, embora as algemas e a corrente devessem estar retinindo.
O homem com certeza fizera tanto barulho que também não ouvira Chyna.
O instinto lhe dissera para subir pela escada dos fundos, e fora sensata em atendê-lo. Se tivesse subido pela escada da frente, ela o encontraria descendo. O homem jogaria Laura sobre Chyna, seguiria as duas enquanto rolassem escada abaixo para o vestíbulo, chutaria o facão de sua mão, se é que já não o tivesse perdido, e a atacaria onde caísse.
Não podia deixar que o homem levasse Laura.
Com medo de que pensar sobre a situação pudesse paralisá-la de novo, Chyna desceu a escada corajosamente. Se pudesse pegá-lo de surpresa e cravar o facão em suas costas, Laura talvez tivesse uma chance.
E era bem capaz de fazer isso. Não era sensível demais. Poderia introduzir o facão bem fundo, tentar atingir o coração pelas costas, perfurar o pulmão, arrancar o facão e golpear de novo, esfaquear o filho da puta várias vezes, ouvir o filho da puta suplicar por misericórdia, mas continuar esfaqueando-o, até que ele silenciasse para sempre. Nunca fizera nada assim; nunca machucara ninguém. Mas poderia fazê-lo agora, destruir aquele homem, porque, apavorada, temia por Laura, porque angustiava-se ao pensar que poderia falhar à amiga... e porque era uma máquina de vingança nata: um ser humano.
No fim da escada, o tapete oval não deslizou sob seus pés, como acontecera antes, e ela seguiu direto para a porta aberta.
Não mantinha mais o facão erguido, mas baixo, ao lado do corpo. Se o homem a ouvisse se aproximando, viraria para confrontá-la e ela poderia então golpeá-lo com um movimento curvo, por baixo do corpo de Laura, atingindo-o na barriga. Era melhor do que tentar esfaqueá-lo nas costas, onde a ponta poderia ser desviada pela omoplata ou por uma costela, ou deslizar pela espinha. Tinha de procurar a parte mais macia do corpo. Ficaria frente a frente com o homem. Poderia fitá-lo nos olhos. Isso a faria hesitar? Ele sentiria o que ia acontecer. O desgraçado. Chyna pensou em Sarah, no chão do boxe, encolhida, nua, sob os pingos frios. Era capaz de matá-lo. Tinha certeza.
Cruzando a porta, saindo para a varanda, ela não apenas estava pronta para matá-lo, mas também disposta a morrer na tentativa de liquidá-lo. Contudo, por mais rápido que ela tivesse sido, não fora o suficiente, porque o assassino não estava descendo os degraus, como previra, mas já alcançando o trailer. O fardo de Laura não retardara seus passos. O homem tinha uma rapidez inumana.
Chyna pisou em um único degrau ao passar da varanda para o caminho. As solas de borracha dos sapatos ressoaram alto o bastante nos blocos de pedra para que o barulho fosse ouvido mais alto que o gemido do vento. A lua sumira, assim como metade das estrelas, levadas por grandes nuvens, mas se o assassino a ouvisse e se virasse, a veria com toda clareza.
Mas ficou claro que ele não ouviu, porque não olhou para trás. Chyna saiu da passagem de pedra para a relva, onde faria menos barulho, ainda determinada a alcançá-lo.
Havia duas portas abertas no trailer: a do motorista e uma outra no mesmo lado do veículo, mas quase atrás. O assassino escolheu a porta traseira.
Com Laura nos braços, foi obrigado a ficar de lado, comprimindo-a contra peito, enquanto se espremia pela porta aberta e subia os dois degraus internos. Mas ele era ágil, além de forte. Desapareceu dentro do veículo antes que Chyna pudesse alcançá-lo.
Ela considerou a possibilidade de partir ao encalço dele. Mas todas as janelas estavam escurecidas por cortinas, e por isso não tinha como saber se o homem fora para a esquerda ou para a direita. E se ele largara Laura logo depois de entrar, agora teria melhores condições de se defender de um ataque. Além da porta era o território do assassino, e Chyna não era tão imprudente em sua sede de vingança a ponto de querer confrontá-lo ali.
Comprimiu-se de costas contra a lateral do trailer, junto à porta aberta, esperando-o. Se ele saísse de novo, trataria de atacá-lo no instante mesmo em que colocasse o pé no chão. O elemento surpresa ainda funcionava em seu favor, talvez agora melhor do que nunca, pois o assassino parecia prestes a escapar e se sentia tão bem consigo mesmo que poderia descuidar-se.
Talvez ele não tornasse a sair, mas pelo menos teria de estender a mão para fechar a porta. Parado no degrau, inclinado para pegar a maçaneta, não teria um bom equilíbrio, e Chyna cravaria o facão em sua barriga, sem lhe dar oportunidade de recuar.
Um movimento lá dentro. Um baque.
Ela ficou tensa.
O homem não apareceu.
Silêncio de novo.
Sentiu cheiro de sangue vindo subitamente do noroeste, como se o vento soprasse de um matadouro. Extinguiu-se no instante seguinte, e Chyna compreendeu que não sentira realmente o cheiro, apenas lembrara-se dos lençóis encharcados na suíte principal da casa dos Templeton.
A parede de alumínio do trailer era fria contra sua espinha, e ela estremeceu, porque parecia que um pouco da frieza do homem lá dentro vazava para seu corpo.
Com a espera, Chyna começou a perder a coragem. O medo recorrente arrefeceu sua raiva, transferindo a energia da vingança para a sobrevivência. Mas ainda era capaz de matá-lo. Sem a menor dúvida. Esforçou-se para controlar sua fúria insana.
Então o assassino saiu do trailer, mas não pela porta ao lado dela. Passou pela porta aberta na frente do veículo.
A respiração de Chyna ficou presa na garganta. O vento frio da tempestade iminente parecia amargo, com o cheiro do fracasso.
Ele já havia se afastado. Não mais distraído pelo peso de Laura nos braços e o retinido dos grilhões, ouviria Chyna se aproximando. Ou seja, ela não contava mais com o elemento surpresa para aumentar suas chances.
O assassino parou ao lado da porta da cabine, a uns dez metros de Chyna, esticando-se, quase indolente. Moveu em círculos os ombros largos, como se tentasse se desvencilhar do cansaço, e massageou a nuca.
Se virasse a cabeça para a esquerda, avistaria Chyna no mesmo instante. Se ela não permanecesse absolutamente imóvel, o homem com certeza perceberia o menor movimento, mesmo de soslaio.
O vento soprava na direção do homem, e Chyna teve medo de que ele pudesse sentir o cheiro de seu medo. Afinal, o assassino parecia mais animalesco que humano, até mesmo na agilidade graciosa com que se movimentava, e ela não tinha a menor dificuldade para acreditar que se tratava de alguém dotado de dons estranhos e sentidos sobrenaturais.
Não segurava o revólver munido de silenciador com que matara Paul Templeton, mas podia tê-lo metido no cinto. Se Chyna tentasse fugir, ele poderia sacar a arma e matá-la antes que tivesse tempo de ir muito longe.
Mas ele não a mataria. Não seria tão fácil assim. Atiraria em sua perna e ,a aprisionaria, levando-a para o trailer, junto com Laura. Iria divertir-se com ela mais tarde.
Ao terminar de se espreguiçar, ele se encaminhou apressado para a casa. Subiu para a varanda. Entrou. Não olhou para trás.
A respiração de Chyna, até então contida, saiu trêmula e entrecortada pelo medo. Ela respirou fluido, estremecendo.
Antes que sua coragem diminuísse ainda mais, adiantou-se até a cabine, sentou-se ao volante. Sua maior esperança era encontrar as chaves na ignição, pois nesse caso poderia ligar o motor e partir com Laura, indo até a delegacia de polícia de Napa. Mas as chaves não estavam ali.
Ela olhou para a casa, especulando por quanto tempo o homem se ausentaria. Talvez procurasse agora por objetos valiosos, depois de concluir a matança. Ou escolhesse souvenirs. Isso poderia demorar cinco minutos, dez minutos, talvez mais. O que poderia ser tempo suficiente para tirar Laura do trailer e escondê-la em algum lugar. De alguma maneira.
Ela ainda tinha o facão. E agora que se encontrava nos domínios do assassino sem o conhecimento dele, recuperara o precioso elemento surpresa contra o homem.
Não obstante, seu coração batia disparado, a boca ressequida, com o leve gosto metálico da ansiedade febril.
O assento girou para longe do painel. Chyna saiu do volante e passou para a área de descanso, com sofás estofados numa tonalidade verde-amarelada.
O chão de aço era acarpetado, é claro, mas depois de longos anos de uso, rangeu baixinho sob seus pés.
Chyna esperava que o lugar recendesse a um teatro Grand Guignol em que as peças sádicas não eram faz-de-conta, mas o ar estava impregnado pelo cheiro de café e pão com canela. Era muito estranho — e também profundamente perturbador — que um homem assim pudesse encontrar alguma satisfação em prazeres inocentes.
— Laura... — sussurrou ela, como se o assassino pudesse ouvi-la de dentro da casa. E repetiu, com mais veemência ainda, embora num sussurro: "Laura!"
Além da área de descanso havia uma kitchnette e um espaço para as refeições, com bancos em vinil vermelho. Funcionando com bateria, havia uma lâmpada acesa em cima da mesa.
Ela não avistou Laura em parte alguma.
Passou pela mesa de jantar, foi até a porta aberta da traseira, por onde o assassino entrara com a moça inconsciente nos braços.
— Laura...
Depois da porta, havia um corredor curto e apertado, do lado do motorista, iluminado por uma lâmpada de segurança de baixa voltagem. Havia também uma clarabóia, agora escura. A esquerda havia duas portas fechadas, e no final uma terceira, entreaberta.
A primeira porta dava para um pequeno banheiro. O espaço era uma maravilha de design eficiente: um vaso, uma pia, um armarinho de remédios e um boxe com chuveiro.
Na segunda porta havia um closet. Umas poucas roupas pendiam de um tubo cromado.
Ao final do corredor ficava um pequeno quarto, com painéis imitando madeira e um closet com uma porta sanfonada de vinil. A fraca luz do corredor quase não iluminava o quarto, mas Chyna conseguiu enxergar o suficiente para identificar Laura, deitada com o rosto virado para baixo, na cama estreita, coberta por um lençol, apenas os pés descalços e os cabelos dourados à mostra.
Sussurrando em tom de urgência o nome da amiga, Chyna foi até a cama e se ajoelhou ao lado dela.
Laura não respondeu. Ainda estava inconsciente.
Chyna não conseguiria levantar a amiga nem carregá-la como o assassino fizera, por isso tentou despertá-la. Puxou um lado do lençol e fitou a amiga.
Os olhos tinham agora um tom azul-safira, não mais azul-celeste, talvez porque a claridade no quarto fosse pouca, ou porque estivessem turvados pela morte. Tinha a boca aberta e o sangue umedecia seus lábios.
O filho da puta louco resolvera levá-la mesmo estando morta, só Deus sabia com que propósito, talvez porque fosse alguma coisa que ele poderia tocar, olhar e com que conversar por alguns dias, a fim de lembrá-lo de sua glória. Um souvenir.
O estômago de Chyna contraiu-se dolorosamente, não em repulsa, mas com culpa, pelo fracasso, a inutilidade e o puro desespero.
— Oh, minha querida — balbuciou ela para a moça morta —, sinto muito, sinto muito.
Não que ela pudesse ter feito qualquer coisa a mais do que tentara. O que poderia ter feito? Não podia ter atacado o miserável desarmada, quando se postara por trás dele no corredor do segundo andar, enquanto ele atraía suavemente a aranha pendurada no teto. O que ela poderia ter feito? Não conseguiria chegar à cozinha antes, pegar o facão mais depressa, subir a escada dos fundos correndo.
— Sinto muito.
Aquela linda moça, tão terna, jamais conheceria o marido com que sonhava, nunca teria os filhos que tornariam o mundo melhor pela simples virtude de serem seus filhos. Vinte e três anos se preparando para dar uma contribuição, para fazer uma diferença na vida dos outros, transbordando de ideais e esperança — mas agora seu talento nunca se expressaria, e o mundo seria muito mais pobre.
— Eu amo você, Laura. Todos nós a amamos.
Qualquer palavra, qualquer sentimento, qualquer manifestação de pesar, tudo era inadequado; mais do que inadequado: sem sentido. Laura se fora, toda a sua simpatia e bondade haviam desaparecido para sempre, e até mesmo as palavras mais comovidas eram apenas palavras.
O estômago de Chyna se contraía com a sensação de perda, atraindo-a implacavelmente para um buraco negro em seu íntimo.
Ao mesmo tempo, sentiu o peito estufar num soluço que, se manifestado, seria explosivo. Uma única lágrima desencadearia um dilúvio. Até mesmo um soluço baixinho acarretaria um gemido incontrolável.
Mas não podia se arriscar ao remorso. Não enquanto estivesse no trailer. O assassino voltaria a qualquer momento, e ela não poderia lamentar por Laura enquanto não estivesse sã e salva, até que ele fosse embora. Não tinha mais nenhum motivo para permanecer ali, pois Laura estava incontestavelmente morta.
Uma porta próxima foi batida com força, fazendo tremer as finas paredes de metal em torno de Chyna.
O assassino voltara.
Alguma coisa chocalhou. Novamente.
Com o facão na mão, Chyna afastou-se de Laura apressadamente e foi para a parede próxima à porta aberta. A dor contida era um combustível de alta octanagem para a raiva, e num instante ela ardia em fúria, inflamada pela necessidade de feri-lo, cortá-lo, ver suas tripas se derramarem, ouvi-lo gritar, trazer a percepção angustiada da própria morte a seus olhos, como ele fizera com Laura.
Ele virá ao quarto. Vou golpeá-lo. Ele virá e vou cortá-lo todo. Era uma prece, não um plano. Ele virá ao quarto. Vou golpeá-lo. Ele virá. Vou dilacerá-lo.
O quarto ficou ainda mais escuro. Ele estava parado na porta, bloqueando a pouca claridade que vinha do corredor.
Em silêncio, o facão de Chyna tremia furiosamente na mão, para cima e para baixo, como a agulha de uma máquina de costura, costurando o desenho do medo em pleno ar.
Ele estava na entrada. Bem ali. Ao alcance de Chyna. Viera dar mais uma olhada na jovem loura morta, para sentir mais uma vez a pele fria, e Chyna o atacaria quando passasse pela porta; iria dilacerá-lo.
Em vez disso, ele fechou a porta e saiu.
Transtornada, ela ficou ouvindo os passos, os rangidos do chão de aço acarpetado sob as botas. Não sabia o que fazer agora.
A porta do motorista foi fechada com força. O motor foi ligado. O freio se soltou com uma ligeira estridência.
E partiram.
Jovens mortas jazem tão perturbadas no escuro quanto na luz. Enquanto o trailer avançava pelo caminho, as correntes e algemas de Laura retiniam sem parar, o barulho apenas um pouco amortecido pelo lençol enrolado em seu corpo.
Sem ver nada, ainda comprimida contra a parede de fibra compensada ao lado da porta do quarto, Chyna Shepherd quase podia acreditar que mesmo morta Laura ainda lutava contra a injustiça de seu assassinato.
Rajadas de cascalho eram lançadas dos pneus para o chassi. Mais um pouco e o trailer alcançaria a estrada do condado, asfaltada, lisa.
Se Chyna tentasse escapar agora, o assassino com certeza ouviria a porta de trás batendo quando o vento a soltasse de sua mão ou a veria pelo espelho retrovisor. Naqueles vinhedos inativos de inverno, em que as casas mais próximas eram habitadas apenas pelos mortos, certamente ele se arriscaria a parar e persegui-la. Chyna não conseguiria ir muito longe antes de ser alcançada.
Melhor esperar. Deixar que ele percorresse alguns quilômetros daquela, estrada secundária, até alcançarem uma estrada principal, passarem por alguma cidade ou, pelo menos, por algum cruzamento. O assassino não viria tão depressa em seu encalço se houvesse pessoas nas proximidades para atender a seus gritos de socorro.
Ela tateou a parede à procura de um interruptor. A porta estava bem fechada; a luz não se espalharia pelo corredor. Encontrou o botão, apertou-o, mas nada aconteceu. A lâmpada devia estar queimada.
Lembrou-se de ter visto uma lâmpada de leitura presa do lado da mesinha de cabeceira embutida. Enquanto tateava dentro do pequeno quarto, o trailer começou a diminuir a velocidade.
Ela hesitou, com o interruptor entre o polegar e o indicador, o coração outra vez disparado, com medo de que ele parasse, saísse de trás do volante e voltasse para o pequeno quarto. Agora que a confrontação não poderia mais salvar Laura, agora que a fúria ardente de Chyna arrefecera e tornara-se raiva, ela queria apenas evitá-lo, escapar e fornecer às autoridades os dados necessários para o prenderem.
Por fim, o veículo não parou totalmente, mas fez uma larga curva para a esquerda, enveredou por uma superfície pavimentada e tornou a aumentar a velocidade. Era a estrada do condado.
Até onde Chyna conseguia se lembrar, o próximo cruzamento seria na Rodovia Estadual 29, pela qual ela e Laura haviam viajado na tarde anterior. Entre as cidades ligadas pela estrada, os únicos desvios eram para outros vinhedos, pequenos ranchos e casas. Não era provável que ele fosse para algum desses lugares, ou que massacrasse mais famílias que dormiam em absoluta inocência. A noite já chegava ao fim.
Ela acendeu a lâmpada, e um círculo de luz fosca projetou-se sobre a cama.
Tentou não olhar para o corpo, embora estivesse quase todo oculto pelo lençol. Se pensasse demais em Laura naquele momento, seria sugada para um atoleiro do mais profundo desalento. Precisava permanecer alerta e lúcida, se quisesse sobreviver.
Embora fosse improvável que pudesse encontrar ali alguma arma melhor do que o facão, nada tinha a perder se procurasse. Já que o assassino tinha um revólver munido de silenciador, bem poderia ter outras armas guardadas no trailer
A única mesinha de cabeceira tinha duas gavetas. Na de cima havia um pacote de gaze, umas poucas esponjas verde-amarelas do tipo usado para lavar louça, um pequeno tubo de plástico com um líquido transparente, um rolo de esparadrapo, um pente, uma escova de cabelos com cabo de casco de tartaruga, um tubo meio vazio da pomada K-Y, um vidro cheio de loção para a pele à base de Aloe vera, um alicate de ponta fina com cabos revestidos de borracha amarela e uma tesoura.
Chyna pôde imaginar algumas das finalidades daqueles itens, e não queria pensar em outras. Com certeza, algumas mulheres que ele levava para aquele quarto ainda estavam vivas quando as estendia na cama.
Ela pensou em pegar a tesoura. Mas o facão seria mais eficaz, se precisasse usá-lo.
Na gaveta de baixo, mais profunda, havia um recipiente de plástico duro, parecido com as caixas de material de pescaria. Chyna abriu e encontrou um kit de costura completo, com numerosos carretéis com linhas de várias cores, uma almofada para alfinetes, pacotes de agulhas, um amplo sortimento de botões, entre outras coisas. Nada disso lhe seria útil, e ela guardou a caixa.
Ao se erguer, notou que a janela acima da cama fora coberta com uma tábua de madeira compensada, parafusada na parede. Dois pedaços de pano azul estavam presos entre a madeira compensada e a armação da janela: beiradas de uma cortina situada atrás do compensado.
Por fora, a janela parecia estar apenas com uma cortina. Qualquer pessoa lá dentro, mesmo que fosse bastante esperta e afortunada para se livrar das algemas, jamais conseguiria abrir a janela e fazer sinais de socorro para os motoristas que passassem lá fora.
Como não havia outros móveis no quarto apertado, o closet era o último lugar em que Chyna poderia encontrar um revólver ou qualquer outra coisa que pudesse ser usada como arma. Ela contornou a cama até a porta sanfonada de vinil, que corria por um trilho situado no teto.
Quando abriu a porta, comprimindo as pregas no lado esquerdo, deparou com um morto dentro do closet.
O choque jogou Chyna contra a cama. O colchão atingiu-a na altura dos joelhos. Quase caiu para trás, em cima de Laura. Conseguiu manter o equilíbrio, mas deixou a faca cair.
O fundo do closet parecia ter sido reforçado com placas de aço soldadas na parede do veículo, para proporcionar maior resistência. Duas argolas, distantes uma da outra e penduradas no alto, estavam soldadas no aço. Com os pulsos algemados nas argolas", o morto pendia com os braços abertos, cruciforme. Tinha os pés unidos, como os pés de Cristo na cruz... só que não estavam pregados, e sim algemados em outra argola, no chão do closet.
Ele era jovem — dezessete ou dezoito anos, com certeza menos de vinte. Vestia apenas uma sunga branca de algodão; tinha o corpo magro e pálido bastante machucado. A cabeça não pendia para a frente, sobre o peito, mas inclinava-se para o lado, a têmpora esquerda encostada no bíceps do braço esquerdo levantado. Tinha cabelos pretos, crespos. As pálpebras fechadas haviam sido costuradas com linha verde. Dois botões haviam sido pregados com linha amarela no lábio superior, e outros dois iguais logo abaixo do lábio inferior.
Chyna ouviu a si própria falando com Deus. Um balbucio incoerente e suplicante. Cerrou os dentes e sufocou as palavras, embora fosse improvável que sua voz pudesse chegar à cabine do trailer, com o ronco do motor e o ruído enfadonho dos enormes pneus.
Ela fechou a porta sanfonada de vinil. Embora frágil, movia-se tão solenemente quanto a porta de um cofre. O fecho magnético encaixou-se com o ruído de um osso se partindo.
Em todos os livros que já lera, nenhum caso de violência sociopática jamais abrangera uma descrição de um crime tão nítida a ponto de fazê-la querer ficar sozinha num canto, sentar-se no chão, levantar os joelhos contra o peito e contrair o corpo todo. Foi justamente o que ela fez naquele momento, escolhendo o canto mais distante do closet.
Tinha de se controlar e depressa, começando pela respiração agitada. Ofegava, sugava o ar com força, mas mesmo assim parecia não obter quantidades suficientes. Quanto mais profunda e rapidamente inalava, mais zonza ficava. A visão periférica foi sendo invadida por uma escuridão inexorável, até que ela parecia estar olhando por um túnel longo e negro na direção do quarto que ficava na extremidade do trailer.
Repetia para si mesma que o jovem no closet já estava morto quando o assassino o costurara. E se não tivesse morrido, pelo menos estaria misericordiosamente inconsciente. Ordenou-se em seguida a não pensar a respeito, porque isso só fazia com que o túnel ficasse mais longo e estreito, tornando o quarto mais distante e as luzes mais fracas que nunca.
Apoiou o rosto nas mãos; as mãos estavam frias, mas o rosto parecia ainda mais frio. Sem nenhum motivo que pudesse compreender, pensou no rosto da mãe, nítido como uma fotografia em sua mente. E foi então que ela compreendeu.
Para a mãe de Chyna, a perspectiva de violência fora romântica, até mesmo glamurosa. Viveram por algum tempo numa comuna em Oakland, onde todos falavam em fazer um mundo melhor. Na maioria das noites, os adultos reuniam-se em torno da mesa da cozinha, bebendo vinho e fumando maconha, discutindo a melhor maneira de destruir o odiado sistema. Às vezes também jogavam pinocle ou Trivial Pursuit, enquanto analisavam as estratégias que poderiam promover sua utopia, fascinados demais pela revolução para se interessarem por projetos menores. Havia pontes e túneis que podiam ser explodidos com absurda facilidade, bloqueando as vias de transporte; as instalações da companhia telefônica seriam destruídas para lançar o sistema de comunicações no caos; os frigoríficos seriam incendiados para acabar com a brutal exploração dos animais. Planejavam intrincados assaltos a bancos e ousados ataques a carros blindados para financiar as operações. O caminho que teriam de percorrer para a paz, liberdade e justiça era sempre esburacado por explosões, cobertos de incontáveis cadáveres. Depois de Oakland, Chyna e a mãe passaram algumas semanas na estrada e acabaram em Key West, com seu velho amigo Jim Woltz, o entusiasmado niilista que se ocupava com o tráfico de drogas, operando também com armas ilegais. No porão de seu chalé à beira-mar ele construíra um depósito onde guardava sua coleção pessoal de duzentas armas de fogo. A mãe de Chyna era uma linda mulher, mesmo nos piores dias, quando a depressão a atormentava, quando seus olhos verdes se tornavam cinzentos e tristes com sofrimentos que não conseguia explicar. Mas naquela mesa de cozinha em Oakland e naquele depósito frio sob o chalé em Key West — na verdade, sempre que se encontrava ao lado de um homem como Woltz —, sua pele de porcelana se tornava ainda mais clara do que o habitual, quase translúcida; a excitação animava suas feições refinadas; como num passe de mágica, ela se tornava mais graciosa, mais atraente e envolvente, mais disposta a sorrir. A perspectiva de violência, de bancar a Bonnie para o Clyde, qualquer que fosse o homem, proporcionava a seu rosto deslumbrante um brilho tão glorioso quanto o pôr-do-sol da Flórida, os olhos verdes ficavam irresistíveis e misteriosos como o Golfo do México escurecendo na iminência do crepúsculo.
Embora essa perspectiva de violência fosse romântica, a realidade era sangue, osso, decomposição, pó. A realidade era Latira na cama e o jovem desconhecido costurado no silêncio por trás da porta sanfonada de vinil.
Chyna continuou sentada, com as mãos frias cobrindo o rosto ainda mais frio, consciente de que nunca teria a estranha beleza da mãe.
Acabou recuperando o controle da respiração.
O trailer continuava andando, e ela se lembrou das noites em que, quando criança, cochilava em trens e ônibus, no banco traseiro de carros, embalada pelo movimento e pelo barulho das rodas, sem saber para onde a mãe a estava levando, sonhando que fazia parte de uma família como as que via na televisão — com pais meio bobos, mas amorosos; uma vizinha divertida que poderia ser frustrada, mas nunca maldosa, e um cachorro que sabia alguns truques. Mas sonhos agradáveis nunca perduravam, e ela volta e meia despertava de pesadelos, olhando através das janelas para paisagens estranhas, desejando poder viajar para sempre, sem parar. A estrada era uma promessa de paz, mas os destinos eram sempre horríveis.
Desta vez não seria diferente de todas as outras. Para onde quer que se dirigiam, Chyna não queria ir. Desejava desembarcar no meio da viagem e torcia para encontrar o caminho de volta à vida melhor que tanto se empenhara em construir nos últimos dez anos.
Ela deixou o canto do quarto para pegar o facão que deixara cair quando recuara, abalada pela descoberta do morto no closet. Depois, contornou a cama até a mesinha de cabeceira e apagou a lâmpada de leitura.
Ficar no escuro com pessoas mortas não a assustava. Só os vivos representavam perigo.
O trailer tornou a diminuir a velocidade e virou à esquerda. Chyna inclinou-se contra a curva para manter o equilíbrio.
Deviam estar na Rodovia Estadual 29. Se tivessem virado à direita, iriam para o sul do vale de Napa, em direção à cidade de Napa. Ela não sabia direito que comunidades ficavam para o norte, além de St. Helena e Calistoga.
Mesmo entre as cidades, no entanto, haveria vinhedos, fazendas, casas, estabelecimentos rurais. Onde quer que saltasse do trailer, encontraria ajuda por perto.
Ela avançou às cegas para a porta e ficou imóvel, com a mão na maçaneta, esperando que o instinto a guiasse de novo. Vivera a maior parte de sua vida como um ato de equilibrismo por sobre estacas afiadas. Numa das noites mais difíceis, quando tinha doze anos, chegara à conclusão de que o instinto era na verdade a voz suave de Deus. As preces eram atendidas, mas era preciso ouvir com atenção e acreditar na resposta. Aos doze anos, Chyna escreveu em seu diário: "Deus não grita; Ele sussurra, e no sussurro está o caminho".
Esperando pelo sussurro, ela pensou no corpo todo machucado do closet, que parecia ter sido morto há menos de um dia, e em Laura, ainda quente na cama. Sarah, Paul, o irmão de Laura, Jack, a esposa de Jack, Nina: seis pessoas assassinadas em vinte e quatro horas. O comedor de aranhas não era um sociopata homicida comum. Na linguagem dos policiais e dos criminologistas que se especializam em procurar e deter homens desse tipo, ele estava quente, passava por uma fase quente, ardendo de desejo, de necessidade. Mas Chyna, que pretendia dar prosseguimento a seu mestrado em psicologia com um doutorado em criminologia (mesmo que tivesse de trabalhar por mais seis anos servindo mesas para conseguir se manter), sentia que o homem não era apenas quente. Era um caso singular, correspondendo apenas em parte aos perfis padronizados de psicopatologia, tão estranho quanto algo caído das estrelas, uma máquina de matar descontrolada, impiedoso e irresistível. Ela não teria esperança de escapar daquele assassino se não esperasse pela voz sussurrante do instinto.
Ela se lembrava de ter visto um espelho retrovisor grande quando sentara ao volante por alguns instantes. O veículo não tinha janela traseira, portanto o espelho servia para dar ao motorista uma vista da sala de estar e da área de jantar. Ele poderia avistar até o corredor que servia ao banheiro e ao quarto, e se tivesse o diabo a seu lado, levantaria os olhos no instante em que Chyna abrisse a porta, saísse e se denunciasse.
Quando sentiu que era o momento certo, Chyna abriu a porta.
Uma pequena bênção, um bom presságio: a luz no teto do corredor estava apagada.
Parada no escuro, ela fechou a porta sem fazer barulho.
A lâmpada da área de jantar estava acesa, como antes. A frente do veículo era iluminada pelo brilho verde do painel de instrumentos — e além do pára-brisa, os faróis eram como espadas prateadas.
Depois de passar pelo banheiro e sair das sombras, Chyna agachou-se por trás dos painéis da área de jantar. Espiou a cabeça do motorista, a cinco ou seis metros de distância.
Ele parecia muito próximo — e, pela primeira vez, vulnerável.
Mesmo assim, Chyna não era tola o bastante para se adiantar furtivamente e atacá-lo enquanto ele dirigia. Se o assassino a ouvisse ou olhasse pelo espelho retrovisor e a avistasse, poderia dar uma guinada no volante ou pisar no freio, derrubando-a. Depois, poderia parar o veículo e pegá-la antes que ela alcançasse a porta de trás — ou então girar a cadeira e abatê-la com um tiro.
A porta pela qual ele entrara carregando Latira ficava à esquerda de Chyna. Ela se sentou no chão, com os pés no poço do degrau, virada para a porta, escondida do motorista pela divisória da área de jantar.
Largou o facão. Quando saltasse, provavelmente cairia e rolaria — e poderia muito bem se ferir com o facão, se tentasse levá-lo consigo.
Não pretendia saltar até que o motorista parasse num cruzamento ou entrasse numa curva bastante fechada que o obrigasse a reduzir a velocidade de modo drástico. Não podia se arriscar a quebrar uma perna ou ficar inconsciente na queda, porque nesse caso não conseguiria deixar a estrada e se esconder.
Não duvidava de que ele perceberia sua fuga no instante exato em que a iniciasse. Ouviria a porta sendo aberta ou o vento assobiando pelo interior do veículo, e a veria pelo espelho retrovisor ou pelo espelho lateral, depois que saltasse. Mesmo na possibilidade improvável de não ser vista, o vento bateria a porta no instante em que ela a largasse; o assassino desconfiaria que não estava sozinho em companhia de sua coleção de cadáveres, pararia à beira da estrada e viria andando pelo acostamento, em pânico, para descobrir o que acontecera.
Ou talvez não ficasse em pânico. De modo algum. Era mais provável que ele a procurasse como uma máquina: frio, metódico, eficiente. Era todo controle e força, e Chyna achava difícil sequer imaginá-lo sucumbindo ao pânico.
O trailer diminuiu a velocidade, e o coração de Chyna.acelerou-se. Enquanto o motorista reduzia ainda mais, ela agachou-se e pôs a mão na alavanca da porta.
O veículo parou por completo e ela empurrou a alavanca, mas a porta estava trancada. Sem fazer barulho, Chyna insistiu, empurrando mais ainda a alavanca — em vão.
Não encontrou nenhum botão de trava. Apenas um buraco de fechadura.
Lembrou-se do retinido que ouvira quando estava no quarto e o comedor de aranha voltara ao veículo e fechara aquela porta. Talvez tivesse sido o barulho de uma chave, ou podia ser um sistema de segurança usado para impedir que crianças caíssem do trailer em movimento. Ou talvez o louco filho da puta tivesse modificado a tranca da porta para.aumentar a segurança, evitando que um ladrão ou um intruso acidental descobrisse cadáveres algemados ou cornos lábios costurados. Nunca se é cuidadoso o bastante quando se tem cadáveres empilhados no quarto. A prudência exige certas medidas de segurança.
O veículo passou pelo cruzamento e a velocidade tornou a aumentar.
Ela deveria saber que a fuga não seria fácil. Nada era fácil. Jamais.
Chyna sentou-se, encostada no painel da área de refeições, ainda virada para a porta, pensando furiosamente.
-Antes, quando saiu do banco do motorista para investigar o interior do veículo, viu uma porta no outrofado, perto da cabine, atrás do banco do passageiro. A maioria dos trailers tinha apenas duas portas, mas.aquele era um modelo antigo, com três portas. Só que ela relutava em se adiantar para escapar, e o motivo era o mesmo pelo qual não queria atacá-lo: ele podia perceber sua aproximação, fazê-la perder o equilíbrio e fuzilá-la antes que ela conseguisse se levantar.
Certo, ela possuía uma vantagem. O assassino não sabia de sua presença a bordo.
Se não conseguisse abrir uma porta e saltar, se fosse preciso matá-lo, .então ficaria esperando ali, surpreenderia o filho da puta e o estriparia, passaria por cima do corpo e sairia pela porta da frente. Apenas minutos antes sentira-se pronta para matá-lo, e podia voltar a esse estado.
O motor fazia com que o chão vibrasse, deixando seu traseiro um pouco dormente. A dormência total até que seria bem-vinda: o carpete estava se tornando um assento inadequado e ela já começava a sentir dores no cóccix. Deslocou o peso do corpo de uma nádega para a outra, inclinou-se para a frente e para trás; nada proporcionava mais que uns poucos segundos de alívio. A dor foi se espalhando pela parte inferior das costas, cada vez mais forte.
Vinte minutos, meia hora, quarenta minutos, uma hora, mais tempo — Chyna suportou a agonia imaginando todas as maneiras como sua fuga poderia se desdobrar, assim que o trailer parasse e o assassino saísse de trás do volante. Concentrava-se. Pensava em tudo. Planejava todas as eventualidades. Ao final, porém, não era mais capaz de pensar cm nenhuma outra coisa que não fosse a dor.
O trailer era frio e ali, junto aos degraus, não havia aquecimento. As vibrações do motor e as irregularidades da estrada agitavam seus sapatos, fazendo seus pés tremerem. Ela flexionou os dedos, com receio de que os pés frios e dormentes e as panturrilhas doloridas pudessem ter cãibras quando chegasse o momento de entrar em ação.
Com uma estranha hilaridade, próxima do desespero, ela pensou: "Esqueça o pesar. Esqueça a justiça. Neste momento, só quero uma cadeira confortável para descansar o rabo, sentar por algum tempo até que meus pés voltem a se esquentar, e mais tarde ele pode me matar, se quiser."
A prolongada inatividade não apenas cobrou um tributo físico, mas logo começou também a deprimi-la. Na casa, quando ouvira o intruso pela primeira vez, antes mesmo de ele ir ao quarto de hóspedes, Chyna refletira que a sensação de segurança vinha do movimento. Agora, era a segurança emocional que viria do movimento, da distração. Mas as circunstâncias exigiam que permanecesse imóvel e esperasse. Tinha muito em que pensar — e eram muitos os pensamentos perturbadores.
Chegou a tamanho estado de aflição que as lágrimas afloraram — e foi nesse instante que ela compreendeu que não estava sentindo tanta dor nas costas ou na bunda, nem seus pés estavam tão frios, latejantes. A verdadeira dor estava em seu coração, a angústia que fora obrigada a reprimir desde que encontrara Paul e Sarah, desde que sentira o cheiro vago e amoníaco de sêmen no quarto de Laura e vira os elos reluzentes da corrente. A dor física era apenas um pretexto para as lágrimas.
Se ousasse chorar com pena de si mesma, no entanto, um verdadeiro dilúvio se seguiria, por Paul, por Sarah, por Laura, por toda a lamentável e desgraçada espécie humana, e também pelo ressentimento inútil diante do fato de que a esperança duramente conquistada poderia mergulhar facilmente no desespero. Gostaria de enterrar o rosto nas mãos, balbuciando em vão a pergunta que já fora feita a Deus mais do que qualquer outra: "Por quê, por quê, por quê, por quê, por quer"
Render-se às lágrimas seria muito fácil, satisfatório. Eram lágrimas egoístas de derrota; não apenas expurgariam o pesar do coração, mas também eliminariam a necessidade de se importar com qualquer pessoa, com qualquer coisa. Poderia alcançar um alívio benfazejo se simplesmente admitisse que a longa luta para tentar compreender não valia a angústia da experiência. Seus soluços causariam a súbita parada do trailer, e o motorista viria para encontrá-la encolhida nos degraus. Seria golpeada, arrastada para o quarto, estuprada ao lado do corpo da amiga; sentiria um terror maior do que qualquer outra coisa que já conhecera antes, porém breve. E dessa vez seria final. Ele a libertaria para sempre da necessidade de perguntar "Por quê", do tormento de cair repetidamente do frágil patamar da esperança para aquela desolação familiar.
Por um longo tempo, talvez desde a noite de tempestade de seu oitavo aniversário e o frenético episódio do besouro de palmito, ela soubera que ser uma vítima era freqüentemente a escolha, que as pessoas faziam. Quando criança, ela não fora capaz de pôr essa percepção em palavras, e não entendia por que tantas pessoas optavam pelo sofrimento; quando mais velha, reconhecera o masoquismo, a fraqueza e o ódio dessas pessoas por si mesmas.
Nem todo sofrimento nem a maior parte dele depende do destino; ocorre conforme nosso convite.
Ela sempre optara por não ser vítima, resistir e revidar, apegar-se à esperança, dignidade e fé no futuro. Mas ser vítima era uma coisa sedutora, uma libertação das responsabilidades e preocupações. O medo seria transmutado em resignação extenuada; o fracasso não mais geraria culpa, mas sim uma confortadora autocomiseração.
Agora ela tremia numa corda bamba emocional, sem saber se seria capaz de manter o equilíbrio ou se cairia.
O trailer tornou a diminuir a velocidade. Virou para a direita. Cada vez mais devagar. Talvez estivesse saindo da estrada e parando.
Chyna tentou abrir a porta de novo. Sabia que estava trancada, mas mesmo assim puxou e empurrou a alavanca, pois não era capaz, afinal de contas, de simplesmente desistir.
Enquanto subiam por um aclive, a velocidade continuou a diminuir.
Estremecendo com a dor nos músculos das pernas e coxas ao se mexer, mas mesmo assim aliviada por dar um descanso às nádegas, ela se ergueu apenas o suficiente para olhar por cima da área de jantar.
A cabeça do assassino era a coisa mais odiosa que Chyna já vira, provocando a renovação de sua raiva. O cérebro que havia sob aquela curva óssea fervilhava com fantasias insidiosas. Era desesperador que ele estivesse vivo e Laura morta. Que estivesse sentado ali, tão presunçoso, tão contente com todas as suas lembranças de sangue, recordando as súplicas por misericórdia, que deviam ser como música para os ouvidos dele; que tornasse a ver um pôr-do-sol e sentisse prazer com isso, provasse um pêssego ou sentisse o perfume de uma flor. Para Chyna, a parte posterior do crânio do homem mais parecia o capacete quitinoso e liso de um inseto. Ela tinha certeza de que se algum dia o tocasse descobriria que era tão frio quanto um besouro se contorcendo sob sua mão.
Além do motorista, além do pára-brisa, no alto, no alto da colina para a qual se dirigiam, havia uma estrutura, indistinta e inidentificável. Algumas lâmpadas de vapor de sódio projetavam uma luz sulfurosa.
Ela tornou a se agachar por trás das divisórias da área de jantar.
Pegou o facão.
Chegaram ao topo da colina. Estavam outra vez em terreno plano. Continuava diminuindo a velocidade.
Chyna virou-se, de costas para a saída, desceu para os degraus. O pé esquerdo no degrau inferior, o direito no superior. As costas se comprimiam contra a porta trancada, agachada nas sombras, fora do alcance da luz, pronta para se erguer num pulo e atacá-lo, se ele voltasse pelo trailer e lhe desse a oportunidade.
Com um suspiro final do freio hidráulico, o veículo parou.
Onde quer que estivessem, devia haver pessoas nas proximidades. Pessoas que poderiam ajudá-la.
Mas se gritasse, as pessoas lá fora estariam bastante perto para ouvi-la?
Mesmo que ouvissem, nunca a alcançariam a tempo. O assassino chegaria primeiro, de arma em punho.
Além do mais, talvez fosse apenas uma área de descanso à beira da estrada, um estacionamento com mesas para piquenique, banheiros, um cartaz advertindo para o perigo de se fazer fogueiras no acampamento. Ele podia ter parado para usar o banheiro público, ou talvez o banheiro do trailer. Aquela hora morta, depois das três da madrugada, devia ser o único veículo no local; nesse caso, ela poderia gritar até ficar rouca que ninguém viria ajudá-la.
O motor foi desligado.
Silêncio. Nenhuma vibração no chão.
Agora que o trailer estava quieto, Chyna tremia. Não estava mais deprimida. Os músculos da barriga pulsavam. Apavorada de novo, porque queria viver.
Teria preferido que o homem saísse e lhe desse uma chance de escapar, mas calculou que ele usaria o banheiro do trailer em vez das instalações públicas. Passaria por ela. Se não fosse possível escapar, então Chyna estava ansiosa para acabar logo com aquilo.
Desvairada, ela especulou se o que sairia dele, ao cortá-lo, seria sangue ou aquela substância que vazava dos besouros gordos ao serem esmagados.
Ficou esperando ouvir o filho da puta se mexer, passos pesados, um rangido quando ele pisasse numa viga fraca no chão, mas houve apenas silêncio. Talvez estivesse levando algum tempo para esticar os braços, massagear os ombros doloridos, tentar atenuar o cansaço da viagem.
Ou talvez a tivesse vislumbrado pelo espelho retrovisor, seu rosto iluminado como uma lua cheia pela lâmpada de leitura que ficava sobre a mesa. Poderia sair do banco do motorista e avançar em sua direção, evitando os rangidos no chão, porque sabia onde estava cada um. Inclinar-se sobre a área de jantar. E fu[zilá-la à queima-roupa, agachada ali, nos degraus. Com um tiro no rosto.
Chyna olhou para a esquerda. Por estar num ponto muito baixo para ver a lâmpada por cima da mesa, podia avistar apenas seu brilho. Especulou se o ângulo de aproximação do assassino permitiria que ela percebesse ou se ele seria apenas uma súbita silhueta surgindo à sua frente quando abrisse fogo.
Intensidade. Ele acredita em viver com intensidade.
Sentado ao volante, fecha os olhos e massageia a nuca.
Não está tentando se livrar da dor. Veio por si mesma, e o deixará naturalmente no momento certo. Ele nunca toma Tylenol e outras porcarias do tipo.
O que tenta fazer é desfrutar a dor tanto quanto possível. Com a ponta dos dedos, encontra um ponto mais dolorido, à esquerda da terceira vértebra cervical, e pressiona até que a dor provoque um tênue piscar de luzes brancas e cinzentas na escuridão por trás das pálpebras, como distantes fogos de artifício num mundo sem cor.
Muito bonito.
A dor é apenas uma parte da vida. Aceitando-a, pode-se encontrar uma surpreendente satisfação no sofrimento. Mais importante ainda, entrar em contato com a própria dor torna mais fácil para ele sentir prazer diante da dor dos outros.
Duas vértebras mais abaixo, ele localiza um ponto ainda mais sensível de tendão ou músculo inflamado, um pequeno e maravilhoso botão enterrado na carne que causa dor ao ser pressionado, uma dor que se irradia pelo ombro e desce pelo trapézio. A princípio ele mexe no ponto com o toque terno de um amante, gemendo baixinho, mas depois ataca-o com vigor, até que a doce agonia faz com que ele sugue o ar por entre os dentes cerrados.
Intensidade.
Ele não espera viver para sempre. Seu tempo neste corpo é finito e precioso — portanto não deve ser desperdiçado.
Não acredita em reencarnação ou em qualquer das promessas padronizadas de vida após a morte vendidas pelas grandes religiões do mundo — embora às vezes sinta que está se aproximando de uma revelação de tremenda importância. Está disposto a aceitar a possibilidade de que a alma imortal exista, e que seu próprio espírito poderá um dia ser glorificado. Mas se isso acontecer, será por suas ações ousadas, não por graça divina; se, de fato, tornar-se um deus, a transformação ocorrerá porque ele já optou por viver como um deus: sem medo, sem remorso, sem limites, com todos os sentidos aguçados ao máximo.
Qualquer um pode cheirar uma rosa e apreciar sua fragrância. Mas por muito tempo ele se condicionou a sentir a destruição da beleza quando esmaga a flor em sua mão. Se tivesse uma rosa agora e mastigasse as pétalas, seria capaz de saborear não apenas a própria rosa, mas também seu vermelho; da mesma maneira, é capaz de saborear o amarelo do botão-de-ouro e o azul do jacinto. Pode saborear a abelha que voa sobre a flor em sua eterna e ruidosa tarefa de polinização, o solo do qual a flor cresceu, o vento que a acariciou no verão de seu crescimento.
Jamais conheceu alguém que pudesse compreender a intensidade com que ele experimenta o mundo, ou a intensidade ainda maior pela qual se empenha. Com sua ajuda, talvez Ariel compreenda um dia. Agora, é claro, ela é imatura demais para alcançar essa percepção.
Um último aperto na nuca. A dor. Ele suspira.
Pega uma capa no banco do passageiro. Ainda não está chovendo, mas ele precisa cobrir as roupas respingadas de sangue antes de entrar.
Poderia ter se trocado antes de deixar a casa dos Templeton, mas gosta de usar aquelas roupas. A patina o excita.
Ele se levanta, pára atrás do banco do motorista, veste a capa.
Lavou as mãos na pia da cozinha dos Templeton, embora preferisse deixá-las também ensangüentadas. Pode esconder as roupas por baixo da capa, mas esconder as mãos não é tão fácil.
Nunca usa luvas. Fazer isso seria admitir que teme a captura, o que não é o caso.
Embora suas impressões digitais estejam nos arquivos das agências federais e estaduais, as impressões que deixa no local do crime jamais combinarão com as que têm seu nome nos registros. Como no resto do mundo, as organizações policiais são propensas à informatização; a essa altura, a maioria dos bancos de referências de impressões digitais se encontra em forma de dados digitais, a fim de facilitar seu exame e processamento em alta velocidade. Os arquivos eletrônicos podem ser manipulados com uma facilidade ainda maior do que os arquivos físicos, porque é possível realizar o trabalho a uma grande distância; não há necessidade de se infiltrar em instalações de alta segurança, quando se pode ser um fantasma adulterando os aparelhos a partir de computadores do outro lado do continente. Sua inteligência, seu talento e suas amizades lhe permitiram interferir nos dados.
Usar luvas, até mesmo aquelas novas luvas cirúrgicas de látex, seria uma barreira intolerável para a sensação. Ele gosta de deslizar a mão levemente sobre os pêlos dourados da coxa de uma mulher, de se demorar apreciando a textura da pele arrepiada contra a palma de sua mão, de desfrutar o intenso calor da pele e depois o desvanecimento de tudo. Quando ele mata, acha absolutamente essencial sentir a umidade.
As impressões que constam em seu nome nos vários arquivos pertencem, na verdade, a um jovem fuizileiro, Bernard Petain, que morreu tragicamente durante manobras de treinamento no Campo Pendleton, há muitos anos. E as impressões que deixa no local do crime, muitas vezes gravadas em sangue, não combinam com nenhuma das existentes nos arquivos do Exército, do FBI, do Departamento de Veículos Motorizados nem de nenhum outro lugar.
Ele termina de abotoar a capa, levanta a gola e examina as mãos. Manchas por baixo de três unhas. Poderiam ser de graxa ou terra. Ninguém vai desconfiar.
Sente o cheiro de sangue em suas roupas mesmo através da capa de náilon preto com forro impermeável, mas as outras pessoas não são tão sensíveis para percebê-lo.
Olhando para os resíduos sob as unhas, no entanto, ele consegue ouvir os gritos de novo, aquela música adorável na noite, a casa dos Templeton, reverberante como uma sala de concertos, e ninguém para ouvir, além dele e dos vinhedos surdos.
Se algum dia for preso em flagrante, as autoridades vão tirar suas impressões digitais outra vez, descobrir sua fraude com os computadores e por fim relacioná-lo a uma longa lista de crimes sem solução. Mas ele não se preocupa com isso. Nunca será capturado vivo, nunca será levado a julgamento. O que quer que descubram sobre suas atividades depois que morrer só servirá para aumentar a glória de seu nome.
Ele é Edgler Foreman Vess. Com as letras de seu nome pode-se formar em inglês uma longa lista de palavras de poder: Deus, medo, demônio, salvação, raiva, dragão, forja, semente, sêmen, entre outras. Também palavras com características místicas: sonho, receptáculo, saber, eternamente, maravilha. Às vezes a última coisa que sussurra para uma vítima é uma frase composta dessa lista de palavras. Uma frase que aprecia em particular e usa com freqüência é God fears me — Deus tem medo de mim.
De qualquer modo, toda essa história de impressões digitais e outros indícios é inútil, porque ele nunca será apanhado. Tem trinta e três anos. Há muito tempo vem se divertindo dessa maneira, e nunca esteve perto de ser descoberto.
Ele pega a pistola no consolo aberto entre o banco do motorista e o do passageiro. Uma Heckler & Koch P7.
Antes, recarregara o pente de treze balas. Agora, retira o silenciador, porque não tem planos de atacar outras casas naquela noite. Além disso, as placas defletoras provavelmente foram danificadas pelos tiros que disparou, reduzindo tanto o efeito do silenciador quanto a precisão da arma.
De vez em quando ele sonha como seria se o impossível acontecesse, se fosse interrompido em ação e cercado por uma equipe da SWAT. Com sua experiência e conhecimento, o confronto seria de uma intensidade emocionante.
Se há um segredo por trás do sucesso de Edgler Vess é sua convicção de que nenhum golpe do destino é bom ou mau, de que nenhuma experiência é qualitativamente melhor do que outra. Ganhar vinte milhões de dólares na loteria não deve ser mais desejado do que ser cercado por uma equipe da SWAT, e um tiroteio com a polícia não pode ser mais temido do que ganhar todo aquele dinheiro. O valor de qualquer experiência não é seu efeito positivo ou negativo na vida, mas sim sua força luminosa, a vividez, a ferocidade, a quantidade e o grau de sensações puras que proporciona. Intensidade.
Vess deixa o silenciador no consolo entre os bancos, guarda a pistola no bolso direito da capa.
Não espera ter problemas. Mesmo assim, não vai desarmado a parte alguma. Nunca se é cuidadoso demais. Além disso, as oportunidades surgem, muitas vezes, em momentos inesperados.
Outra vez no banco do motorista, ele tira as chaves da ignição e verifica se o freio está firme. Abre a porta e sai do trailer.
Todas as oito bombas de gasolina são automáticas. Estacionou na segunda das duas ilhas de atendimento. Precisa ir ao caixa da loja de conveniência para pagar adiantado e indicar a bomba que usará, para que seja ligada.
A noite respira. Em altitudes superiores, uma forte ventania impele massas de nuvens do noroeste para o sudeste. Aqui, ao nível do solo uma exalação menor de vento frio sopra entre as bombas, assobia ao longo do trailer e sacode a aba da capa contra as pernas de Vess. A loja — tijolos amarelo-claros por baixo, alumínio branco até o teto, vitrines grandes, cheias de mercadorias — fica na frente das colinas cobertas de vegetação alta; o vento uiva por entre os galhos das árvores com uma voz abafada, antiga e solitária.
Lá fora, na Rodovia 101, há pouco tráfego àquela hora. Quando um caminhão passa, corta o vento com um grito que parece estranhamente jurássico.
Um Pontiac com placas do Estado de Washington está estacionado na ilha de atendimento interna, sob as lâmpadas amarelas de vapor de sódio. Além do trailer, é o único veículo à vista. Um adesivo no pára-choque traseiro anuncia que Os eletricistas sabem corno encaixar um plugue.
No telhado do prédio, posicionada para ser mais visível da 101, há uma placa de néon vermelha avisando Aberto 24 horas. Vermelho é o som que cada caminhão que passa faz na estrada. Sob o clarão, suas mãos parecem nunca ter sido lavadas.
Quando Vess se aproxima da entrada, a porta de vidro se abre e um homem sai, carregando um pacote tamanho família de batata frita e uma embalagem com seis latas de Coca-Cola. Gorducho, com costeletas compridas e um bigode de pontas caídas. Gesticula para o céu e comenta, enquanto passa apressado:
— A tempestade está chegando.
— Ótimo — responde Vess.
Ele gosta de tempestades. Gosta de guiar em tempestades. Quanto mais torrencial a chuva, melhor. Com raios faiscando, árvores derrubadas pelo vento e o asfalto escorregadio como gelo.
O sujeito com o bigode de pontas caídas vai para o Pontiac.
Vess entra na loja, especulando o que um eletricista de Washington faz numa estrada no norte da Califórnia àquela ímpia hora da noite.
Ele é fascinado pela maneira como as vidas se ligam por um instante, com um potencial para o drama que às vezes se realiza, às vezes não. Um homem pára num posto e abastece o carro, demora-se a comprar batata frita e Coca-Cola, faz um comentário sobre o tempo para um estranho e continua sua viagem. O estranho poderia muito bem segui-lo até o carro e estourar seus miolos. Haveria riscos para o atirador, mas não dos mais sérios; tudo poderia ser feito com uma surpreendente discrição. A sobrevivência do homem pode ter um significado misterioso ou não fazer o menor sentido; Vess é incapaz de se decidir por uma coisa ou outra.
Se o destino de fato não existe, deveria existir. ? A pequena loja é aquecida, limpa e bem iluminada. Três corredores estreitos estendem-se à esquerda da porta, oferecendo as mercadorias habituais de beira de estrada: todos os petiscos imagináveis, medicamentos básicos, revistas, livros, cartões postais, coisas para pendurar no espelho retrovisor e enlatados para excursionistas e pessoas como Vess, que viajam em lares sobre rodas. Ao longo da parede dos fundos há geladeiras altas, com cervejas e refrigerantes, além de dois freezers com sorvetes. A direita da entrada fica o balcão de atendimento, que separara os dois caixas e a área de atendimento da parte pública da loja.
Há dois empregados de plantão. Hoje em dia ninguém trabalha sozinho em lugares como esse à noite — e com bons motivos.
O sujeito na caixa registradora é um raivo de trinta e poucos anos, com sardas e uma marca de nascença de cinco centímetros de diâmetro, rosada como salmão cru, na testa pálida. A marca é incrivelmente parecida com um feto encolhido no útero, como se um gêmeo tivesse morrido logo no início da gestação e deixado sua imagem fossilizada na testa do irmão.
O raivo está lendo um livro. Levanta os olhos à aproximação de Vess, fitando-o com olhos cinza, claros e penetrantes.
— Em que posso ajudar, senhor?
— Estou na bomba sete — informa Vess.
O rádio está sintonizado numa emissora rural. Alan Jackson canta sobre a meia-noite em Montgomery, o vento, um curiango, um calafrio solitário e o fantasma de Hank Williams.
— Como deseja pagar? — pergunta o caixa.
— Se eu usar mais o cartão de crédito, o banco vai mandar alguém para quebrar minhas pernas — diz Vess, estendendo uma nota de cem dólares. —Acho que vou precisar de uns sessenta dólares de gasolina.
A combinação da canção, a marca de nascença e os obsessivos olhos cinza do caixa geram em Vess uma fantástica sensação de expectativa. Alguma coisa excepcional está prestes a acontecer.
— Pagando as compras de Natal como todo mundo, hein? — comenta o caixa, enquanto registra a venda.
Ki.i — E continuarei pagando até o próximo Natal.
O segundo funcionário está sentado num banco junto ao balcão, a pequena distância. Não está na outra caixa registradora, mas sim registrando a contabilidade ou fazendo um levantamento de estoque — algum tipo de serviço burocrático.
Vess não havia olhado antes diretamente para o segundo homem, e agora descobre que é essa a coisa excepcional que sentiu aproximar-se.
— A tempestade está chegando — comenta ele para o segundo homem. O empregado levanta os olhos dos papéis espalhados sobre o balcão.
Tem vinte e poucos anos, parece meio oriental, de uma beleza extraordinária. Não. Mais do que bonito. Cabelos bem pretos, pele dourada, olhos líquidos como óleo e profundos como poços. Há uma certa gentileza em sua aparência que lhe dá um aspecto quase efeminado — mas não totalmente.
Ariel o adoraria. É o tipo dela.
— Talvez fique frio o bastante para nevar em alguns desfiladeiros nas montanhas — diz o asiático —, se é para lá que está indo.
Ele tem uma voz simpática, quase musical, que deixaria Ariel encantada. É sem dúvida muito atraente. Para o caixa, que está contando o troco, Vess acrescenta:
— Espere um pouco. Preciso também de coisas para comer. Voltarei depois de encher o tanque.
Ele sai apressado, receoso de que percebam sua excitação e fiquem alarmados.
Embora não tenha passado mais de um minuto dentro da loja, a noite parece bem mais fria agora. Ele aspira a fragrância dos pinheiros e espruces — até dos abetos mais ao norte —, inala o doce verde das colinas arborizadas que estão por trás dele, detecta o cheiro da chuva se aproximando, sente o cheiro do ozônio dos raios que ainda não aconteceram, respira o medo intenso dos pequenos animais que já tremem nos campos e nas florestas, esperando pela tempestade.
Depois de ter certeza de que ele deixara o trailer, Chyna avançou pelo veículo, mantendo o facão à sua frente.
As janelas da área de jantar e de estar tinham cortinas, e ela não conseguia ver o lado de fora, mas através do pára-brisa constatou que pararam num posto de gasolina.
Não tinha idéia de onde estava o assassino. Ele saíra há menos de um minuto. Podia ter parado ali perto, a poucos passos da porta.
Não o ouvira tirando a tampa do tanque de gasolina ou ajeitando o bico da mangueira na abertura. Mas pela maneira como o trailer fora estacionado, era evidente que o combustível seria abastecido pelo lado direito; portanto, era mais provável que o assassino estivesse ali.
Com medo de prosseguir sem saber exatamente onde ele estava, mas com mais medo ainda de permanecer no trailer, Chyna sentou-se no banco do motorista. Os faróis estavam apagados, o painel de instrumentos escuro, mas vinha claridade suficiente da área de jantar para que alguém a visse pelo lado de fora.
Na ilha ao lado, um Pontiac arrancou de junto das bombas. As luzes vermelhas traseiras logo desapareceram na distância.
Até onde ela conseguia ver, o trailer era agora o único veículo no posto.
Chyna entreabriu a porta, estremeceu com o som, saltou e cambaleou quando alcançou o chão. O facão escapuliu de sua mão, como se estivesse cheio de graxa, e caiu no chão com estrépito.
Certa de que atraíra a atenção do assassino, que já se aproximava, ela tratou de se levantar. Virou-se para a esquerda, depois para a direita, as mãos estendidas à frente, num patético gesto de defesa. Mas não avistou o comedor de aranha em parte alguma do asfalto iluminado.
Ela fechou a porta, procurou o facão ao redor, não conseguiu localizá-lo imediatamente — e parou subitamente quando um homem saiu da loja do posto, a uns quinze ou vinte metros de distância. Usava um casaco comprido, e por isso Chyna não teve certeza a princípio se era mesmo o assassino, mas logo lembrou-se do inexplicável farfalhar de tecido que ouvira antes de ele deixar o veículo, e não teve mais nenhuma dúvida.
O único lugar para se esconder era atrás de uma das bombas na outra ilha, mas ficava a dez metros de distância, entre ela e a loja, com uma área bem iluminada para atravessar. Além disso, ele se aproximava da mesma ilha pelo outro lado e a alcançaria primeiro, pegando Chyna em terreno aberto.
Se ela tentasse contornar o trailer, o assassino a veria e se perguntaria de onde saíra aquela mulher. Sua psicose provavelmente incluía um certo grau de paranóia, e presumiria que ela estivera escondida no veículo. E a perseguiria. Implacável.
Em vez disso, no instante exato em que o viu deixando a loja, Chyna jogou-se no chão. Contando com as bombas na primeira ilha para encobrir qualquer movimento perto do chão, rastejou de bruços para baixo do trailer.
O assassino não gritou, não apressou os passos. Não a vira.
De seu esconderijo, Chyna observou-o se aproximar. Quando ele chegou perto, a claridade era intensa o bastante para ela reconhecer as botas de couro preto como sendo as mesmas que observara de baixo da cama do quarto de hóspedes, cerca de duas horas antes.
Ela virou a cabeça para acompanhá-lo, enquanto o homem dava a volta pela traseira do trailer para o lado direito, onde parou perto de uma bomba de gasolina.
O asfalto era frio contra as coxas, barriga e seios de Chyna. Sugava o calor do corpo através do jeans e da blusa de algodão, e ela começou a tremer.
Escutou o assassino retirar a ponta da mangueira da bomba, abrir a portinhola do tanque, desenroscar a tampa. Calculou que seriam necessários alguns minutos para encher aquele tanque enorme, e começou a se preparar para deixar o esconderijo no instante em que ouviu o bocal da mangueira bater no tanque.
Foi então, ainda estendida no chão, que avistou o facão, a três metros do pára-choque dianteiro. A luz amarela refulgia ao longo do gume.
Exatamente quando saía de baixo do trailer, antes que tivesse tempo para se pôr de pé, ouviu passos sobre o asfalto. Olhou de relance por baixo do veículo e viu que o assassino obviamente fixara o gatilho da mangueira na abertura do tanque, pois estava novamente em movimento.
Freneticamente e com o mínimo de ruído, ela recuou de novo para baixo do veículo. Era capaz de ouvir a gasolina caindo no tanque.
O assassino seguiu pelo lado direito, contornou a frente até a porta do motorista, mas não a abriu. Parou ali, completamente imóvel. Então foi até o facão, abaixou-se e o pegou.
Chyna prendeu a respiração, embora parecesse impossível que o assassino pudesse intuir o significado do facão. Nunca o vira antes. Não poderia saber que saíra da casa dos Templeton. Sem dúvida era muito estranho encontrar um facão de carne caído no acesso a um posto de gasolina, mas podia ter vindo de qualquer veículo que houvesse passado por ali.
Com o facão na mão, ele voltou ao trailer e entrou, deixando a porta do motorista aberta.
Por cima da cabeça de Chyna, os passos no chão de aço do veículo ressoaram como tambores de vodu. Até onde ela conseguia determinar, o homem havia parado na área de jantar.
Vess não é propenso a ver presságios por toda parte. Um solitário falcão voando sob a lua cheia, vislumbrado à meia-noite, não vai enchê-lo de expectativas de desastre ou sorte. Um gato preto cruzando seu caminho, um espelho quebrado no instante em que reflete sua imagem, uma notícia sobre o nascimento de um bezerro de duas cabeças — nenhuma dessas coisas é capaz de afetá-lo. Está convencido de que cria seu próprio destino e que a transcendência espiritual — se é que tal coisa acontece — decorre apenas de agir com ousadia e viver com intensidade.
Apesar disso, o facão levou-o a especular. Possui uma qualidade totêmica, uma aura quase mágica. Ele o coloca com todo cuidado no balcão da cozinha, onde a luz estende um brilho úmido pelo gume.
Quando o pegara no chão, a lâmina estava fria, mas o cabo vagamente quente, como se antecipasse a sensação do calor de sua mão.
Eventualmente experimentará aquele facão que fora descartado de maneira tão estranha, a fim de verificar se algo de especial ocorre quando corta alguém com aquela lâmina. No momento, porém, não lhe proporciona a vantagem de que precisa para o trabalho iminente.
Ele está com a Heckler & Koch P7 aninhada no bolso da capa, mas sente que nem mesmo a pistola é adequada à situação.
Os dois homens do balcão não estão em uma zona de guerra como um mercado 7-Eleven de uma cidade grande, mas mesmo assim são suficientemente inteligentes para tomarem precauções. Hoje em dia nem mesmo Beverly Hills e Bel Air, habitadas por artistas de cinema e astros aposentados do futebol americano, são seguras à noite para seus cidadãos — ou por causa deles. Mas os homens do posto de gasolina são pessoas que andam armadas para se defender e sabem como usar um revólver. Lidar com essa gente exige uma arma intimidativa, com um poder de fogo formidável.
Ele abre um armário à esquerda do fogão. Uma escopeta Mossberg calibre 12 está presa em dois ganchos na prateleira. Vess apanha-a e ajeita-a em cima do balcão.
A arma já está carregada. Ele não pertence à Associação Americana do Automóvel, mas está sempre preparado para qualquer outra eventualidade quando viaja.
Há uma caixa de balas de espingarda no armário, já aberta, para facilitar o acesso. Ele pega algumas e deixa-as em cima do balcão ao lado da Mossberg, apesar de ser pouco provável que venha a precisar delas.
Desabotoa a capa, mas não a tira. Transfere a pistola do bolso externo direito para vim bolso interno, na altura do coração, no forro. É também ali que guarda as balas de reserva.
Pega uma câmera Polaroid compacta numa gaveta da cozinha. Guarda-a no bolso em que estava a Heckler & Koch P7. Tira da carteira uma foto Polaroid de sua garota especial, Ariel, coloca-a no mesmo bolso junto com a câmera.
Com seu canivete automático de dezoito centímetros, ainda pegajoso do uso na casa dos Templeton, ele corta o forro do bolso esquerdo da capa e tira os fragmentos de tecido. Agora, se colocar moedas nesse bolso, elas vão cair direto no chão.
Ajeita a espingarda por baixo da capa aberta e segura-a com a mão esquerda, pelo bolso rasgado. A arma fica bem escondida, e ele não acredita que possa levantar suspeitas.
Ele anda rapidamente até o quarto e volta, Verificando como caminha. Consegue se movimentar bem, sem bater a escopeta nas pernas.
E afinal de contas, pode usar a agilidade e rapidez da aranha da casa dos Templeton.
Não se importa com os danos que possa causar ao caixa de olhos cinza que tem uma marca de nascença, mas terá de tomar cuidado para não destruir o rosto do jovem oriental. Precisa levar boas fotos para Ariel.
Lá em cima, o assassino parecia ocupado na área de jantar do trailer. O chão rangia sob seus movimentos.
A menos que abrisse as cortinas, não poderia ver nada lá fora do ponto em que se encontrava. Com um pouco de sorte, Chyna conseguiria escapar para a liberdade.
Ela pensou em permanecer debaixo do veículo, deixando-o encher o tanque e partir, para só depois entrar e chamar a polícia.
Mas ele descobrira o facão, e poderia estar pensando a respeito. Chyna não era capaz de imaginar como ele conseguiria compreender o significado do facão, mas agora sentia um medo dele quase supersticioso, uma convicção quase irracional de que seria descoberta se permanecesse ali.
Rastejou para sair de baixo do trailer, agachou-se, olhou para a porta aberta, depois para as janelas ao lado. As cortinas continuavam fechadas.
Encorajada, ela se levantou e atravessou a ilha interna de atendimento, passando entre as bombas. Lançou um olhar para trás, mas o assassino continuava dentro do veículo.
Afastou-se pela noite, na direção da luz fluorescente e dos acordes de música country. Havia dois empregados no balcão à direita, e ela pretendia dizer "Chamem a polícia", mas depois olhou para a porta de vidro que acabara de se fechar às suas costas e viu o assassino saindo do trailer e voltando para a loja, embora ainda não tivesse acabado de encher o tanque.
Ele olhava para baixo. Não a vira.
Chyna afastou-se da porta.
Os dois homens a fitaram, apreensivos.
Se ela lhes dissesse para chamarem a polícia, iam querer saber por quê, e não havia tempo para uma discussão, nem mesmo tempo suficiente para o telefonema. Em vez disso, ela murmurou: "Por favor, não o deixem saber que estou aqui".
Antes que eles pudessem responder, Chyna avançou por um corredor entre prateleiras de mercadorias que se elevavam por dois metros em ambos os lados, em direção aos fundos da loja.
Ao sair do corredor para se esconder no final de uma fileira de gôndolas com diversos produtos, Chyna ouviu a porta se abrir e o assassino entrar. Um uivo do vento acompanhou-o, e depois a porta se fechou.
O caixa ruivo e o jovem oriental de olhos escuros fitam-no de maneira estranha, como se soubessem de alguma coisa que deveriam ignorar. Vess quase tira a escopeta da capa no instante em que passa pela porta, quase os mata sem nenhum preâmbulo. Mas diz a si mesmo que está imaginando coisas, que os homens apenas se mostram intrigados com sua pessoa, porque é sem dúvida uma figura notável. As pessoas sentem com freqüência sua força excepcional, percebem que ele vive com superioridade. É sempre popular nas festas, atrai as mulheres. Aqueles homens apenas se sentem atraídos por ele, como tantos outros. Além do mais, se os liquidar de imediato, sem uma palavra, estará se recusando o prazer das preliminares.
Alan Jackson não está mais cantando no rádio. Prestando atenção, Vess diz:
— Não acham Emmylou Harris sensacional? Alguém mais conseguiu cantar essa música de modo tão comovente?
— Ela é ótima — murmura o ruivo. Antes ele estava expansivo, mas agora parece reservado. O oriental não diz nada, inescrutável naquele templo zen de Twinkies, barras de chocolate Hershey, petiscos, biscoitos diversos e Doritos.
— Adoro canções sobre o lar e a família — comenta Vess.
— Está de férias? — pergunta o ruivo.
— Claro, amigo, estou sempre de férias.
— É muito jovem para ser aposentado.
— O que eu quis dizer é que a vida por si mesma é sempre férias, se você olhar da maneira certa. Andei caçando um pouco.
— Por essas bandas? — indaga o raivo. — Que caça se pode encontrar nesta época?
O oriental permanece calado, mas atento. Pega um salame Slim Jim numa estante e abre o invólucro de plástico, sem desviar os olhos de Vess.
Não desconfiam nem por um instante sequer que ambos estarão mortos dentro de um minuto, e essa falta de percepção, como a de uma vaca apática, deixa Vess muitíssimo satisfeito. É mesmo muito engraçado como os olhos deles ficarão arregalados no momento em que a escopeta trovejar!
Em vez de responder ao caixa, Vess pergunta:
— Você é caçador?
— Meu esporte é a pesca — informa o raivo.
— Nunca me interessei — diz Vess.
— Uma grande maneira de se entrar em contato com a natureza... um bote no lago, o sossego cercado de água.
Vess balança a cabeça.
— Não se pode ver coisa alguma nos olhos deles. O ruivo pisca, confuso.
— Nos olhos de quem?
— Ora, são apenas peixes. Com aqueles olhos lisos, vidrados. Meu Deus!
— Nunca disse que eram bonitos. Mas nada tem um gosto melhor do que o salmão ou a truta que você mesmo pesca.
Edgler Vess presta atenção à música por um momento, deixando os dois homens observarem-no. A canção de fato o emociona. Sente a solidão angustiante da estrada, o anseio por um amor longe de casa. É um homem sensível.
O oriental dá uma mordida no Slim Jim. Mastiga com delicadeza, os músculos dos maxilares mal se mexendo.
Vess decide que levará o salame inacabado para Ariel. Ela poderá pôr a boca no lugar que o oriental mordera. Essa intimidade com o lindo rapaz será o presente de Vess para a garota.
— Terei o maior prazer em voltar pra casa e encontrar minha Ariel — comenta ele. — Não é um lindo nome?
— E, sim — concorda o ruivo.
— E combina com ela.
— É a madame? — indaga o ruivo.
Sua cordialidade não está natural como no momento em que Vess lhe pediu para ligar a bomba número sete. Não há a menor dúvida de que ele se sente desconfortável, mas tenta não demonstrar.
Tempo de surpreender os dois, verificar como reagem. Algum dos dois começará a perceber o que está para lhes acontecer?
— Não — responde Vess. — Nada de bola de ferro e corrente para mim. Talvez um dia. De qualquer modo, Ariel tem apenas dezesseis anos, ainda não está pronta.
Eles ficam sem saber o que dizer. Dezesseis anos é a metade de sua idade. Dezesseis ainda é uma criança. Encrenca grossa.
O risco que ele assume é enorme e excitante. Outro freguês pode sair da estrada a qualquer momento, aumentando o perigo.
— A coisa mais linda que vocês já viram deste lado do Paraíso — acrescenta Vess, lambendo os lábios. — Estou me referindo a Ariel.
Ele tira a foto Polaroid do bolso da capa e a joga no balcão. Os dois homens olham. — É um anjo puro — garante Vess. — Pele de porcelana. Deslumbrante. Faz seu saco vibrar como uma corda de violino.
Com uma repulsa mal disfarçada, o caixa olha para o monitor de controle das bombas, à esquerda da caixa registradora, e anuncia:
— Seus sessenta dólares acabam de entrar no tanque.
— Não me entenda mal — diz Vess. — Nunca toquei nela, não desse jeito. Ariel passou o último ano trancada no porão, onde posso contemplá-la sempre que quero. Esperando que minha bonequinha amadureça, se torne um pouco mais suculenta.
Com olhos vidrados como os de um peixe, os dois o fitam aturdidos. Ele se deleita com suas expressões. Depois, sorri e acrescenta:
— Ei, peguei vocês nessa, hein?
Nenhum dos dois retribui o sorriso, e o ruivo diz, tenso:
— Ainda vai comprar alguma coisa ou apenas quer seu troco? Vess assume seu rosto mais sincero. Quase consegue corar.
— Desculpem se os ofendi. Acontece que sou um gozador. Não consigo deixar de brincar com os outros.
— Acontece que tenho uma filha de dezesseis anos, e não entendo qual é a graça — declara o ruivo.
Vess olha para o oriental.
— Quando saio para caçar, sempre levo troféus. Sabe como é: que nem um toureiro que fica com o rabo e as orelhas do touro, entende? Às vezes é apenas uma foto. Presentes para Ariel. Ela vai gostar muito de você.
Enquanto fala, ele levanta a Mossberg, envolta pela capa, como que vestida de luto, segurando-a com as duas mãos. Arremessa o ruivo para fora do assento onde estava e mete outra bala na culatra.
O oriental. Ah, como seus olhos se abrem! Uma expressão que nunca se verá em peixe nenhum.
Quando o ruivo cai no chão, o jovem oriental de olhos fabulosos já estende a mão por baixo do balcão, à procura de uma arma.
— Não faça isso ou encherei seu rabo de balas — diz Vess.
Mas o oriental levanta o revólver mesmo assim, um Smith & Wesson 38 Chief´s Special. Vess estende a escopeta pelo balcão e dispara à queima-roupa em seu peito, não querendo arruinar aquele rosto perfeito. O jovem é arremessado para fora de seu assento, o revólver escapulindo da mão antes de ter a chance de dar um único tiro.
O ruivo está gritando.
Vess vai até o portão no balcão e passa para o outro lado.
O caixa ruivo que tem uma filha de dezesseis anos esperando em casa está encolhido, como se imitasse a marca de nascença em sua testa. No rádio, Garth Brooks canta Thunder rolls. Agora o ruivo está gritando e chorando ao mesmo tempo. Os gritos reverberam pelas janelas de vidro, o eco da escopeta ainda ressoa nos ouvidos de Vess e um novo cliente pode entrar na loja a qualquer segundo. O momento é de uma intensidade angustiante.
Mais um disparo acaba com o ruivo.
O oriental está inconsciente, morrendo depressa. Por sorte, seu rosto permanece ileso.
Como um peregrino ajoelhando-se diante de um santuário, Vess cai de joelhos no instante em que um estertor final sacode o jovem agonizante. Um som que parece o frágil tremular das asas de um inseto. Ele se inclina para inalar a última exalação do outro, respira fundo. Um pouco da graça e beleza do oriental faz parte dele agora, transmitido com o cheiro do Slim Jim.
A canção de Brooks é sucedida por Johnny Cash cantando a velha A boy named Sue uma música tola o bastante para estragar o ânimo. Vess desliga o rádio.
Enquanto recarrega a escopeta, ele examina a área por trás do balcão e avista uma fileira de controles na parede. Etiquetas indicam a localização das luzes que controlam. Vess desliga toda a iluminação externa, inclusive a placa de néon vermelho no telhado que diz Aberto 24 horas.
Quando desliga as luzes fluorescentes do teto, a loja não fica mergulhada em total escuridão. As luzes dos mostradores dos refrigeradores têm um brilho fantasmagórico por trás das portas de vidro. Um relógio luminoso anunciando a cerveja Coors brilha numa parede, e no balcão uma luminária ilumina os papéis em que o oriental trabalhava.
Não obstante, as sombras são profundas e a loja parece estar fechada. E improvável que um cliente saia da estrada.
Claro que um policial local ou um patrulheiro rodoviário, curioso pelo repentino fechamento da loja que nunca fecha, poderia aparecer para investigar. Por isso, Vess não pode se demorar na tarefa que ainda resta realizar.
Encolhida contra a extremidade de uma gôndola, o mais longe possível do balcão do caixa, Chyna sentia-se exposta pela luz do refrigerador à direita e ameaçada pelas sombras à esquerda. No silêncio que se seguiu aos tiros e ao fim da música, ela convenceu-se de que o assassino podia ouvir sua respiração trêmula e entrecortada. Mas não conseguia se aquietar, não conseguia parar de tremer, assim como um coelho não consegue parar de tremer ao ser perseguido por um lobo.
Talvez o ruído dos compressores dos refrigeradores proporcionasse ruído suficiente para salvá-la. Tinha vontade de se inclinar para um lado e depois para o outro, a fim de verificar os corredores, mas não conseguia reunir coragem para olhar. Fora dominada por uma certeza absurda de que ao se curvar daria de cara com o comedor de aranha.
Pensara que nada poderia ser mais terrível do que descobrir os cadáveres de Paul e Sarah — e mais tarde de Laura —, mas isto era ainda pior. Desta vez estava no mesmo cômodo em que os assassinatos ocorreram, bastante perto não apenas para ouvir os gritos, mas também para senti-los como golpes no peito.
Supunha que o assassino estava saqueando a loja, mas ele não precisaria matar os empregados para levar o dinheiro. Parecia claro que o dinheiro não era um fator determinante para ele. Matara-os simplesmente porque gostava de matar. Ele se deixava levar pelos impulsos. Estava quente.
Chyna parecia presa numa noite interminável. Um colapso nas engrenagens cósmicas, tudo emperrando. As estrelas fixadas no mesmo lugar. O sol jamais tornaria a nascer. E um frio terrível desceria do céu congelado.
Houve um clarão súbito, e Chyna levantou as mãos diante do rosto, numa reação defensiva. Só depois é que compreendeu que o clarão viera do outro lado da loja. Logo em seguida, outro clarão.
Edgler Vess não é um caçador, como disse ao caixa ruivo, mas sim um connoisseur que coleciona imagens requintadas, registrando a maioria delas com a câmera de sua mente, mas também usando de vez em quando a Polaroid. Lembranças de extrema beleza animam seus pensamentos todos os dias e formam a base de seus agradáveis sonhos.
Cada clarão da câmera parece perdurar nos olhos arregalados do oriental, faiscando como se seu espírito estivesse retido por trás das córneas e tentasse sair daquela prisão mortal.
Numa ocasião, em Nevada, Vess matara uma incomparável morena de vinte anos, cujo rosto fazia Claudia Schiffer e Kate Moss parecerem megeras. Antes de destruí-la meticulosamente, ele tirara seis fotos. Ameaçando-a, ele até conseguiu que ela sorrisse em três delas; era um sorriso radiante. Uma vez a cada trinta dias, durante os três meses seguintes àquele memorável episódio, ele cortara e comera uma das fotos em que ela aparecia sorrindo, sempre experimentando uma intensa excitação pela destruição de sua beleza. Sentira-a sorrir em sua barriga, um brilho quente, e sabia que ele próprio se tornava mais belo por contê-la.
Mas não consegue se lembrar do nome da morena. Os nomes nunca têm nenhuma importância para ele.
Saber o nome do jovem oriental, no entanto, será útil quando for descrever o episódio para Ariel. Ele larga a Polaroid, vira o corpo, tira a carteira do bolso de trás da calça.
Levanta um documento na direção da luz da luminária, verifica que o nome é Thomas Fujimoto.
Vess decide chamá-lo de Fuji, como a montanha.
Ele torna a guardar o documento na carteira, põe a carteira de volta no bolso. Não pega nenhum dinheiro do morto. Também não vai pegar o dinheiro na caixa registradora — exceto os quarenta dólares de troco a que tem direito. Não é ladrão.
Com três fotos tiradas, ele precisa apenas cumprir sua promessa a Fuji e provar que é um homem de palavra. É uma coisa um pouco constrangedora, mas ele acha divertido.
Agora deve cuidar do sistema de segurança, que registrou tudo o que fez. Há uma câmera de vídeo sobre a porta da frente, focalizando o balcão do caixa.
Edgler Foreman Vess não tinha a menor vontade de se ver no noticiário da televisão. Viver com intensidade é praticamente impossível quando se está na prisão.
Chyna tinha de novo a respiração sob controle, mas o coração batia tão forte que a visão pulsava e as artérias da carótida vibravam na garganta como se correntes elétricas percorressem seu corpo.
Outra vez convencida de que a segurança estava no movimento, ela se inclinou para a luz e olhou pelo corredor em frente aos refrigeradores. O assassino não se achava à vista, mas dava para ouvi-lo do outro lado da loja, fazendo um barulho rápido e furtivo, como um rato numa pilha de folhas de outono.
De quatro, com o estômago contraído de terror, ela engatinhou para a luz dos refrigeradores o suficiente para olhar pelo corredor estreito, à procura de alguma coisa nas prateleiras à direita que pudesse servir como arma. Sem o facão, sentia-se impotente.
Não havia facas à venda. As coisas penduradas mais perto dela eram chaveiros, cortadores de unha, pentes de bolso, canetas, pacotes de lenços de papel, limpadores de óculos, baralhos e isqueiros descartáveis.
Ela estendeu a mão e pegou um isqueiro na prateleira. Não sabia como poderia usá-lo para se defender, mas na ausência de um pedaço de aço devidamente afiado, o fogo era a única arma a sua disposição.
As lâmpadas fluorescentes do teto piscaram e acenderam. A claridade deixou-a paralisada.
Chyna olhou para a frente da loja. O assassino não estava à vista, mas numa parede sua sombra encurvada aparecia imensa, para logo depois se encolher e se afastar, como uma mariposa passando diante de um refletor.
Vess acende as luzes só para examinar a câmera de vídeo instalada sobre a porta.
Claro que a fita incriminadora não está dentro da câmera. Se o acesso fosse tão fácil assim, até mesmo os idiotas que ganham a vicia assaltando postos de gasolina e lojas de conveniência seriam espertos o suficiente para subir num banco e ejetar o cassete, levando-o ou destruindo-o ali mesmo. A câmera envia a imagem para um gravador em outra parte do prédio.
O sistema foi acrescentado depois de o prédio ficar pronto, por isso o cabo de transmissão não foi embutido na parede. O que é uma sorte para Vess, porque se o cabo estivesse oculto a busca seria muito mais demorada. A linha nem mesmo passa por dentro do teto acústico rebaixado. Presa às placas do teto, leva até a divisória do fundo da loja, por trás do balcão do caixa, passando para outra sala por um buraco de um centímetro de diâmetro na parede.
Há também uma porta para essa sala. Ele encontra um escritório com uma escrivaninha, arquivos de metal cinza, um pequeno cofre com fechadura de combinação e armários de fórmica.
Por sorte o gravador não está no cofre. O cabo de transmissão sai do buraco na parede, continua por mais dois suportes numa distância de dois metros e desce para um dos armários. Não houve nenhuma tentativa de esconder o aparelho.
Vess abre as portas de cima do armário, não encontra o que procura, revista a parte de baixo. Há três aparelhos ali, empilhados.
A fita sussurra no aparelho de baixo, há uma luz indicadora acesa por cima da palavra record. Ele aperta o botão stop, depois eject, e guarda o cassete no bolso da capa.
Poderá mostrá-lo para Ariel. A qualidade não será de primeira classe, porque o sistema é antigo, uma tecnologia superada. Mas a preciosa menina ficará impressionada com seu desempenho ousado mesmo nas cenas muito iluminadas na fita gasta em preto- e-branco.
Há um telefone na escrivaninha. Ele arranca o fio que leva à tomada na parede e usa o cabo da escopeta para destruir o disco.
Um novo turno de empregados entrará em serviço por volta das oito ou nove horas, dentro de quatro ou cinco horas. A essa altura, Vess já estará longe. Mas não há sentido em lhes facilitar o contato com a polícia. Alguma coisa pode sair errada em seus planos, atrasá-lo ali ou na estrada, e nesse caso não é nada mau ganhar uma meia hora extra pela destruição do telefone.
Ao lado da porta há um quadro com oito chaves penduradas, cada uma com sua etiqueta. Com exceção da atual e lamentável interrupção no atendimento, o posto funciona vinte e quatro horas — e mesmo assim tem uma chave para a porta da frente. Ele a pega.
De volta à área de trás do balcão, depois de fechar a porta do escritório, Vess aperta um interruptor e as lâmpadas fluorescentes do teto se apagam.
Ele pára na penumbra que resta, respirando pela boca, lambendo os lábios, passando a língua pelas gengivas, saboreando o cheiro acre dos tiros. A escuridão é agradável em seu rosto e no dorso das mãos; as sombras são eróticas como mãos esguias e trêmulas.
Ele contorna os corpos, vai até o balcão e pega apenas os quarenta dólares da gaveta da caixa registradora.
O Smith & Wesson 38 Chief s Special do jovem oriental continua em cima do balcão, sob o cone de luz da luminária, onde Vess o pôs com todo cuidado minutos antes. É incapaz de roubar a arma, assim como não leva o dinheiro que não lhe pertence.
O Slim Jim, no qual o oriental deu uma mordida grande, também está em cima do balcão. Infelizmente, o invólucro foi rasgado, tornando-se inútil.
Vess pega outro salame na prateleira, corta com os dentes a extremidade do invólucro de plástico e tira a carne. Insere o salame mais curto (mordido pelo oriental) no invólucro, torce a ponta e fecha. Guarda-o no bolso junto com o cassete — para Ariel.
Paga o salame que pegou, tirando o troco da caixa registradora.
Há um telefone no balcão. Ele arranca o fio da tomada e esmaga o disco com a coronha da escopeta.
E agora vai fazer compras.
Chyna ficou aliviada quando as luzes se apagaram, assustou-se com as pancadas e pôs-se alerta no silêncio que se seguiu.
Saíra do corredor iluminado pelos refrigeradores e voltara para seu abrigo na extremidade da gôndola, onde removera a embalagem de papelão e plástico do isqueiro descartável. Enquanto as lâmpadas fluorescentes do teto estavam acesas e o brilho da chama não podia traí-la, testara o isqueiro, que funcionou bem.
Agora segurava aquela arma patética e rezava para que o assassino terminasse o que estava fazendo — talvez saquear a caixa registradora — e saísse dali de uma vez. Não queria ter de enfrentá-lo com um isqueiro Bic. Se o homem tropeçasse nela, talvez pudesse se aproveitar da surpresa, acender o isqueiro em seu rosto e deixá-lo com uma desagradável queimadura — ou mesmo atear fogo em seus cabelos — antes que ele pudesse recuar. Era mais provável, no entanto, que o assassino tivesse reflexos de uma rapidez fantástica; derrubaria o isqueiro de mão dela antes que pudesse causar-lhe algum dano.
Mesmo que o queimasse, só ganharia uns poucos segundos preciosos para se virar e fugir. Com dor, ele partiria em seu encalço, e seria mais rápido, com suas pernas compridas. O resultado da corrida dependeria da força motivadora maior, o terror de Chyna ou a fúria insana do assassino.
Ela ouviu movimentos, o rangido do portão do balcão, passos. Meio nauseada devido ao medo prolongado, sentiu um glorioso ânimo quando teve a impressão de que ele estava indo embora.
Mas depois percebeu que os passos não se encaminhavam para a porta na frente da loja. Em vez disso, aproximavam-se dela.
Estava de cócoras, as costas comprimidas contra a extremidade da gôndola, sem saber onde ele estava. No primeiro dos três corredores, perto da frente da loja? No corredor central, imediatamente à sua esquerda?
Não.
No terceiro corredor.
A sua direita.
Passava pelos refrigeradores. Sem nenhuma pressa. Não como se soubesse que ela estava ali e pretendesse matá-la.
Chyna agachou-se, mas permaneceu abaixada; seguiu para a esquerda, pelo corredor do meio. Ali, a claridade irradiada pelos refrigeradores se refletia no teto acústico, mas a iluminação era mínima. Todas as mercadorias estavam envoltas por sombras.
Ela se encaminhou para o balcão do caixa, aliviada por estar usando seus sapatos de sola de borracha — e depois se lembrou da embalagem de onde extraíra o isqueiro Bic. Deixara-a no chão, na extremidade da gôndola, onde ficara agachada.
Ele a veria, provavelmente até pisaria nela. Talvez pensasse que em algum momento da noite anterior algum ladrão compulsivo tirara o isqueiro da embalagem para escondê-lo no bolso com mais facilidade. Ou talvez ele soubesse.
A intuição talvez fosse tão importante para ele como às vezes era para Chyna. Se a intuição era o sussurro de Deus, então talvez outro deus, menos benevolente, falasse com igual sutileza para um homem como aquele.
Ela voltou, inclinou-se e pegou a embalagem. O plástico fez um pouco de barulho, mas foi bem fraco e, por sorte, abafado pelos passos do homem.
Ele se encontrava pelo menos no meio do terceiro corredor quando Chyna se afastou pelo segundo. Mas o assassino andava devagar, enquanto ela avançava o mais depressa que podia. Assim, Chyna alcançou a extremidade do corredor antes que ele chegasse ao outro lado.
Nessa extremidade da gôndola, em vez de um painel liso, como no outro lado, havia uma estante de arame com livros de bolso, e Chyna quase trombou com ela quando fez a volta. Controlou-se a tempo, contornou a estante e abrigou-se junto a ela, mais uma vez entre os corredores.
Havia uma foto Polaroid no chão: um close de uma garota de beleza excepcional, em torno dos dezesseis anos, com cabelos compridos, de um tom louro platinado. As feições da adolescente estavam calmas, mas não relaxadas, numa brandura determinada, como se os verdadeiros sentimentos fossem tão explosivos que ela se autodestruiria no momento em que os admitisse. Os olhos contradiziam sutilmente a atitude; estavam um pouco arregalados, vigilantes, com uma expressividade angustiante, janelas para uma alma em tormento, irradiando raiva, medo e desespero.
Devia ser a foto que ele mostrara aos mortos. Ariel. A moça do porão.
Embora ela e Ariel não tivessem nenhuma semelhança, Chyna sentiu que contemplava um espelho em vez de um retrato. Identificava em Ariel um terror próximo do medo que a sufocara durante a infância, um desespero familiar, uma solidão profunda como o gelado oceano polar.
Os passos do assassino trouxeram-na de volta ao presente. A julgar pelo som, ele não se encontrava mais no terceiro corredor. Virará no fundo da loja e seguia agora pelo corredor do meio.
Avançava devagar, passando pelo mesmo trecho que Chyna acabara de percorrer.
O que diabos ele está fazendo ?
Ela teve vontade de levar a foto consigo, mas não ousou. Deixou-a no chão, no mesmo lugar onde a encontrara.
Contornou a estante de livros em direção ao terceiro corredor, de onde assassino saíra momentos antes. Encaminhou-se para o fundo da loja. Tratou de se manter perto das mercadorias, no lado esquerdo, longe das portas de vidro dos refrigeradores iluminados, a fim de não projetar no teto uma sombra que ele pudesse perceber.
Ao se mover, Chyna ainda conseguia ouvir os passos pesados do homem, mas não podia determinar, a menos que parasse e escutasse, em que direção ele seguia. Só que não ousava parar e se orientar, pois ele poderia descobri-la no meio do corredor. Ao chegar à extremidade da gôndola e virar, Chyna meio que esperava deparar com o homem, trombar com ele e ser apanhada.
Mas ele não estava ali.
Chyna acocorou-se, encostada na extremidade final da gôndola, o lugar de onde partira. Cautelosa, ela largou no chão a embalagem do isqueiro Bic, entre seus pés, no mesmo ponto de onde a pegara menos de um minuto antes.
Prestou atenção. Nada de passos. Além do barulho dos refrigeradores, apenas o silêncio.
Com o polegar erguido, ela apertou o isqueiro, pronta para acendê-lo.
Vess enfia dois pacotes de biscoitos feitos de queijo e manteiga de amendoim, uma barra de amendoim Planters e duas barras de chocolate Hershey nos bolsos da capa, onde já estavam a pistola, a Polaroid e o videoteipe.
Soma os preços de cabeça. Por não querer perder tempo indo à caixa registradora para pegar o troco, arredonda a despesa e deixa o pagamento em cima do balcão.
Depois de pegar a foto caída de Ariel, ele hesita, absorvendo a atmosfera do momento seguinte. Há uma característica especial em salas onde pessoas acabaram de morrer: como o silêncio num teatro durante aquele instante entre a cortina que se fecha ao fim de uma apresentação perfeita e o início dos aplausos entusiasmados; uma sensação de triunfo, mas também uma solene percepção de eternidade, suspensa como uma gota fria na ponta de um pingente de gelo que derrete. Com os gritos encerrados e o sangue empoçado, Edgler Vess é capaz de apreciar melhor os efeitos de suas ações ousadas e desfrutar a serena intensidade da morte.
Por fim, ele deixa a loja. Usa a chave com etiqueta que pegou no quadro para trancar a porta.
Há um telefone público no canto do prédio. Por causa do cordão blindado, não é fácil arrancar o fone, e por isso ele bate na caixa, cinco, dez, vinte vezes, até que o plástico arrebenta, revelando o microfone. Tira o microfone do bocal quebrado, larga-o no chão, esmaga-o metodicamente com o salto da bota. Depois, torna a pendurar o fone inútil no gancho.
Seu trabalho aqui está concluído. Embora satisfatório, o interlúdio foi inesperado; fez com que ele se atrasasse.
Ainda tem muito a dirigir. Não se sente cansado. Dormira durante toda a tarde anterior e pelo início da noite, antes de visitar os Templeton. Mesmo assim, detesta perder mais tempo. Deseja chegar logo em casa.
Ao norte, relâmpagos riscam o céu entre densas camadas de nuvens, parecendo mais pulsações do que raios. Vess está satisfeito com a perspectiva de uma grande tempestade. Aqui, no solo, onde se vive a vida, o tumulto e o turbilhão são elementos fundamentais do clima humano. Por razões que não consegue compreender, ele se sente sempre tranqüilizado pela visão de violência também nos reinos superiores. Embora nada tema, às vezes fica inexplicavelmente perturbado pela visão de um céu sereno, quer esteja azul ou nublado. Com freqüência, nas noites claras, quando o céu fica cheio de estrelas, ele prefere não contemplar aquela imensidão.
Mas agora não há estrelas visíveis. Lá em cima só se vêem massas sinistras de nuvens, tangidas por um vento frio, riscadas por relâmpagos, carregando um dilúvio.
Vess atravessa apressadamente o posto em direção ao trailer, ansioso em retomar a viagem para o norte, ao encontro da tempestade prometida, em busca do melhor lugar na noite, onde os relâmpagos serão mais fortes, onde um vento mais intenso derrubará árvores, onde a chuva cairá com uma força destrutiva.
Agachada na extremidade da gôndola, Chyna ouviu a porta ser aberta e fechada, não ousando acreditar que o assassino finalmente partira e que sua provação poderia ter acabado. Prendendo a respiração, ela esperava ouvir o som da porta sendo aberta de novo, os passos tornando a avançar pela loja.
Quando escutou, em vez disso, a chave virando na fechadura e o estalido da tranca, adiantou-se pelo corredor central, ainda abaixada, silenciosa como uma gata, com o receio supersticioso de que ele pudesse ouvir o menor ruído, mesmo lá de fora.
Pancadas violentas, reverberando pelas paredes do prédio, fizeram-na parar de repente, na frente do corredor. O assassino batia furioso em alguma coisa, mas ela não podia imaginar o que era.
Quando as pancadas cessaram, Chyna hesitou, depois se ergueu e inclinou-se pela extremidade da gôndola. Olhou para a direita, além do primeiro corredor, na direção da porta de vidro e das vitrines da loja.
Com as luzes externas apagadas, as. ilhas de atendimento se encontravam imersas na escuridão, tão profunda quanto a do fundo de um rio.
A princípio ela não conseguiu avistar o assassino, que se fundia com a noite, em sua capa preta. Mas depois ele se mexeu, avançando pela escuridão para o trailer.
Mesmo que olhasse para trás, ele não poderia vê-la na loja escura. Não obstante, o coração de Chyna disparou, quando saiu para a área aberta entre os três corredores e o balcão do caixa.
A foto de Ariel não estava mais no chão. Ela quis acreditar que jamais a tivesse visto.
No momento, os dois empregados que haviam guardado o segredo de sua presença eram mais importantes que Ariel ou o assassino. Os estrondos da escopeta e a súbita cessação dos gritos desesperados haviam-na convencido de que ambos já tinham morrido. Mas precisava ter certeza. Se um deles ainda se apegasse milagrosamente à vida, e se pudesse providenciar socorro — polícia e paramédicos — ficaria em parte redimida.
Fora incapaz de fazer qualquer coisa para deter o desgraçado sanguinário; apenas se escondera de sua vista, rezando freneticamente por invisibilidade. Agora a náusea a dominava, como uma papa de ostras geladas rolando de um lado para outro em seu estômago — e ao mesmo tempo ela se reanimava com uma exultação repulsiva por ter sobrevivido, quando tantos outros haviam morrido. Embora fosse compreensível, a exultação a envergonhava; e por si mesma tanto quanto pelos dois funcionários, esperava ainda ser capaz de salvá-los.
Ela empurrou o portão no balcão e o rangido penetrante de uma dobradiça provocou um calafrio em seus ossos.
Um abajur proporcionava um pouco de luz.
Os dois homens estavam caídos no chão.
— Ah... — balbuciou ela. — Oh, Deus!
Não havia como ajudá-los, e no mesmo instante Chyna virou-se para o outro lado, os olhos turvos.
No balcão, ao lado do abajur, havia um revólver. Ela ficou olhando para a arma, incrédula, piscando para reprimir as lágrimas.
Era evidente que pertencia a um dos empregados. Chyna ouvira a conversa entre o assassino e os dois homens, e lembrava vagamente de uma advertência áspera, que podia ter sido um aviso para largar uma arma. Aquela arma.
Ela a pegou, segurou-a com as duas mãos — um peso que a animava.
Se o assassino voltasse, estaria preparada, não mais impotente, pois sabia como usar uma arma. Alguns dos amigos mais loucos de sua mãe eram peritos em armas, pessoas cheias de ódio, com um estranho brilho nos olhos, em alguns casos um sinal de consumo de drogas, mas visível em outros quando falavam com veemência sobre o compromisso total com a verdade e a justiça. Numa fazenda isolada em Montana, quando Chyna tinha apenas doze anos, uma mulher chamada Doreen e um homem chamado Kirk haviam-na ensinado a usar uma pistola, embora seus braços finos sacudissem demais com o coice. Com toda paciência, os dois ensinaram-na a controlar a arma e garantiram que algum dia ela seria uma autêntica guerreira, habilitada para o movimento.
Chyna quisera aprender sobre armas de fogo não para usá-las por uma ou outra causa nobre, mas para se proteger das pessoas nos estranhos círculos de sua mãe que sucumbiam a acessos de raiva induzidos pelas drogas — ou que a fitavam com um desejo repulsivo. Era muito pequena para desejar a atenção daqueles homens, com muito amor-próprio para encorajá-los, mas graças à mãe, já não era inocente a ponto de não compreender o que alguns queriam com ela.
Então, com o revólver do empregado morto na mão, ela virou-se e viu o telefone espatifado.
— Merda!
Tornou a passar pelo portão do balcão, voltou à parte pública da loja, aproximou-se da porta.
O trailer continuava estacionado no lado externo da segunda ilha de atendimento. Com os faróis apagados.
O assassino não estava à vista a princípio, mas depois contornou a traseira do trailer, a capa desabotoada esvoaçando ao vento.
Embora estivesse a vinte metros de distância, não conseguiria vê-la na porta, com toda certeza. Nem olhava em sua direção, mas mesmo assim Chyna deu um passo para trás.
Ao que tudo indicava, ele estivera retirando a mangueira e fechando o tanque de gasolina. Avançou pelo lado do veículo em direção à porta do motorista.
Chyna planejara telefonar para a polícia e avisar que o assassino seguia para o norte, pela Rodovia 101. Agora, quando encontrasse um telefone, ligasse para a polícia e explicasse a situação, ele já teria pelo menos uma hora de vantagem. Poderia continuar para o norte, a caminho do Oregon, virar para leste, na direção de Nevada — ou até mesmo seguir para oeste até a costa, rumar para o sul à beira do Pacífico e ir para San Francisco, desaparecendo no labirinto urbano. Quanto mais quilômetros ele percorresse antes que fosse transmitido um aviso para sua captura, mais difícil seria encontrá-lo. Muito em breve estaria na jurisdição de outra agência policial, primeiro em um condado diferente, talvez até em outro estado, complicando a busca.
E agora que pensava a respeito, Chyna compreendeu que tinha poucas informações úteis para a polícia. O trailer podia ser azul ou verde; ela não tinha certeza qual — ou se era de fato uma dessas cores — porque só o vira no escuro e depois no clarão amarelado das lâmpadas de sódio do posto, que distorciam as cores. Também não sabia qual era a marca e não registrara o número da placa.
Ele ia escapar. Sem pressa, confiante de que não havia perigo iminente de descoberta, o assassino entrou no veículo e fechou a porta.
Oh, Deus, ele vai escapar! Não, é intolerável, inadmissível. Ele não pode escapar, deixar de pagar pelo que fez com Laura, com todos os outros — e o que é pior, ter chance de fazer isso de novo. Não, meu Deus, por favor, permita-me liquidar o desgraçado nojento com um tiro na cabeça.
Ela se aproximou da porta outra vez. Só poderia ser destrancada com uma chave. E ela não tinha uma chave. Ouviu o motor do trailer sendo ligado.
Se desse um tiro no vidro, ele ouviria. Mesmo com o barulho do motor e a distância, ainda assim ele ouviria.
E depois de passar pela porta, ela estaria longe demais para acertá-lo.
Quinze ou vinte metros, à noite, com um revólver, as bombas de gasolina no meio. Não daria certo. Precisava chegar mais perto, junto ao trailer, estender a arma pela janela.
Mas se ele a ouvisse atirar para abrir a porta trancada e a visse sair da loja, Chyna não teria a menor chance de se aproximar, nem em um milhão de anos; e depois o assassino passaria a caçá-la, por toda a área do posto, onde quer que ela fosse, e sua escopeta era uma arma melhor do que um revólver.
Ele acendeu os faróis.
— Não!
Ela correu para o portão no balcão, empurrou-o, contornou os cadáveres, foi para a porta na parede dos fundos.
Tinha de haver uma saída por trás. Uma exigência em caso de incêndio, uma necessidade prática.
A porta se abriu para a escuridão. Até onde conseguia ver, não havia janelas à sua frente. Talvez fosse apenas um depósito ou um banheiro. Ela entrou, fechou a porta para impedir que a luz vazasse para a loja, tateou pela parede à procura do interruptor e acionou-o.
Estava num escritório apertado. Havia outro telefone destruído em cima da mesa.
Havia outra porta bem em frente. Sem tranca à vista. Devia ser um banheiro.
A esquerda, na parede dos fundos do prédio, uma porta de metal exibia duas trancas de alavanca. Chyna soltou as trancas e abriu a porta. Um fluxo de vento frio entrou pelo escritório.
Havia ali atrás uma área asfaltada de seis ou sete metros de largura, e depois uma encosta íngreme, com árvores escurecidas pela noite e agitadas pelo vento. Uma lâmpada de segurança dentro de uma proteção de arame revelava dois carros estacionados, provavelmente dos empregados mortos.
Xingando o assassino, Chyna virou-se para a direita e correu ao lado do prédio, contornou o canto, passou pelos banheiros públicos. Jamais causara nenhum mal físico a alguém, nem uma única vez em toda a sua vida, mas agora sentia-se disposta a matar, e sabia que seria capaz de fazê-lo sem a menor hesitação, sem nenhum pensamento de misericórdia, como uma vingança, porque ele lhe deu motivos para isso. O desgraçado a reduzira àquela fúria cega e animal, e o pior era que isso proporcionava a ela uma sensação agradável, essa raiva, em comparação com o medo e desamparo que sofrerá antes, o doce canto do sangue correndo nas veias, um sentimento inebriante de força selvagem. Seria normal que ficasse transtornada com a sede de sangue que a dominava, mas estava gostando, e sabia que gostaria mais ainda quando alcançasse o trailer e atirasse no assassino pela janela do motorista, abrisse a porta e disparasse de novo, enquanto ele estivesse ali, sangrando, e depois o arrastasse para o chão e esvaziasse o revólver, para que nunca mais pudesse caçar.
Chyna contornou o segundo canto e chegou à frente do prédio. ; O trailer estava se afastando das bombas.
Ela correu atrás dele, mais depressa do que jamais correra em sua vida, enfrentando o vento que provocava novas lágrimas em seus olhos, os sapatos fazendo barulho no asfalto.
Agora ela dizia a si mesma "Deixe-me apanhá-lo, meu Deus", em vez de "Deixe-me escapar dele, meu Deus". Dizia também "Deixe-me matá-lo, meu Deus", em vez de "Não deixe que ele me mate, meu Deus".
O trailer acelerou. Já deixara a área de atendimento e entrava no caminho que o levaria de volta à estrada.
Ela nunca conseguiria alcançá-lo.
O assassino ia escapar.
Chyna parou, abriu as pernas. Tinha o revólver na mão direita. Levantou-o, segurou-os com as duas mãos, os braços estendidos, os cotovelos firmes. A postura de um atirador. Toda boa moça deveria aprendê-la, para quando chegasse a revolução.
O coração de Chyna não apenas batia, trovejava, e cada batida explosiva sacudia seus braços, de tal maneira que não conseguia manter o revólver apontado para o alvo. De qualquer forma, o trailer estava muito distante. Erraria por metros. E mesmo que tivesse sorte e acertasse uma bala na traseira, não chegaria nem perto do motorista. Ele estava fora do seu alcance, acima de qualquer mal.
Tudo havia acabado. Podia procurar ajuda, encontrar um telefone mais próximo que funcionasse, chamar a polícia, tentar diminuir ao máximo a vantagem do assassino... mas aqui e agora, tudo estava acabado.
Só que não havia terminado, e Chyna sabia disso, por mais que o quisesse, porque disse em voz alta: "Ariel".
Dezesseis anos. A coisa mais linda que vocês já viram neste lado do Paraíso. Anjo -puro. Vele de porcelana. Deslumbrante. Trancada no porão há mais de um ano. Nunca toquei nela — não desse jeito. Esperando que minha bonequinha amadureça, se torne um pouco mais suculenta.
Na mente de Chyna, a foto Polaroid de Ariel continuava tão nítida e detalhada quanto no momento em que a tivera na mão. A expressão branda, mantida com um esforço óbvio. Aqueles olhos, transbordando de angústia.
Antes, ao escutar a conversa entre o assassino e os dois empregados do posto, Chyna tivera certeza de que ele não estava apenas pregando uma peça: ele dizia a verdade. O miserável deixava-os a par de seus segredos, admitia seus crimes pervertidos, sentia um pouco de emoção em revelar sua culpa porque sabia que ambos morreriam, que nunca teriam chance de revelar suas confissões para ninguém. Mesmo que nunca tivesse visto a foto, Chyna teria certeza. Ariel. Aqueles olhos. A angústia
Enquanto se concentrava na própria sobrevivência, ela bloqueara todos os pensamentos sobre a moça cativa. E quando encontrara o revólver, convencera-se de que o que mais queria era matar o filho da puta, estourar seus miolos, porque a verdade era uma coisa que ela não conseguia aceitar.
E a verdade era que não ousaria matá-lo porque talvez jamais encontrassem Ariel se ele morresse — ou a descobririam tarde demais, depois que ela tivesse morrido de fome ou sede em sua cela no porão. Talvez a moça estivesse trancafiada embaixo de sua casa, que provavelmente poderiam localizar por algum documento em seu poder, mas também era possível que se encontrasse em outra parte, algum lugar remoto, aonde só de poderia levá-los. Chyna perseguiria o assassino para incapacitá-lo, a rim de que a polícia pudesse depois arrancar dele o paradeiro de Ariel. Se pudesse alcançar o trailer, tentaria abrir a porta do motorista, atirar na perna do desgraçado, feri-lo gravemente para obrigá-lo a parar. Mas tivera de esconder essa verdade de si mesma porque tentar feri-lo era muito mais arriscado do que acertar-lhe um tiro na cabeça pela janela. Talvez não tivesse coragem de correr tão depressa e tentar com tanto empenho se admitisse para si mesma o que precisava ser feito.
Com sua carga de cadáveres, com seu motorista cujo nome podia muito bem ser Legião, o veículo que desaparecia no caminho de acesso à Rodovia 101 era literalmente o Inferno sobre rodas.
Em algum lugar ele tinha uma casa, sob essa casa havia um porão, e no porão estava uma moça de dezesseis anos chamada Ariel, mantida prisioneira há um ano, intata, mas que seria estuprada em breve, viva, mas não por muito tempo.
— Ela existe — sussurrou Chyna para o vento.
As luzes traseiras se desvaneciam na noite.
Freneticamente, esquadrinhou a solitária área ao redor. Não conseguiu divisar possibilidades de ajuda em nenhuma direção. Não havia luzes de casas nas proximidades. Apenas árvores e escuridão. Alguma coisa projetava um tênue brilho ao norte, depois de uma ou duas lombadas, mas ela não sabia qual era a fonte, e de qualquer maneira não conseguiria percorrer depressa uma distância tão grande a pé.
Um caminhão apareceu na estrada, vindo do sul, por trás do clarão dos faróis, mas não parou para encher o tanque no posto todo apagado. Passou direto, o motorista ignorando a presença de Chyna ali.
O trailer estava quase alcançando a rodovia.
Com um soluço de frustração, com raiva, com medo pela moça que nunca conhecera c com desespero por sua própria culpa se aquela jovem morresse, Chyna deu as costas ao trailer. Voltou correndo, passou pelas bombas. Contornou o prédio, pelo mesmo caminho por onde viera.
Ao longo de sua infância, ninguém jamais lhe estendera a mão. Ninguém jamais se importara que ela estivesse acuada, apavorada e desamparada.
Agora, quando pensava na foto Polaroid, a imagem era como um daqueles hologramas que mudam dependendo do ângulo em que se olha. Às vezes era o rosto de Ariel; às vezes era o rosto da própria Chyna.
Enquanto corria, ela rezou para não ter de entrar outra vez na loja. E revistar os corpos.
Relâmpagos distantes riscavam o céu, as trovoadas ressoavam como calcanhares de botas na escada para o porão. Nas encostas íngremes, atrás do prédio, as árvores negras se sacudiam ante o vento cada vez mais forte.
O primeiro carro era um Chevrolet branco. Com dez anos de uso. Destrancado.
Quando ela se sentou ao volante, as molas rangeram, um pacote de chocolate ou alguma outra coisa estalou sob o seu pé. O interior fedia a fumaça de cigarro.
As chaves não estavam na ignição. Ela procurou por trás do protetor solar, debaixo do banco. Nada.
O segundo carro era um Honda, mais novo que o Chevy. Recendia a fragrância de limão e as chaves estavam na bandeja de moedas no consolo.
Chyna pôs o revólver no banco do passageiro, ao seu alcance, relutante em largá-lo. Depois de adulta, sempre confiara na prudência e na cautela para se manter longe de encrencas. Não segurava uma arma desde que abandonara a mãe, aos dezesseis anos de idade. Agora não conseguia imaginar viver sem uma arma ao seu lado, e duvidava que algum dia pudesse ser de outra forma — um progresso que a deixava consternada.
O motor pegou imediatamente. Os pneus cantaram e queimaram contra o asfalto, mas logo o carro disparou de trás do prédio e passou em alta velocidade pelas ilhas de atendimento.
O caminho para a rodovia estava deserto. O trailer sumira de vista.
Naquele trecho, a Rodovia 101 era uma estrada de quatro faixas de rolagem com um canteiro no meio, o que significava que o assassino não poderia ter virado para o sul. Seguira para o norte, e não podia ter se afastado muito no pouco tempo de vantagem que tinha.
Chyna partiu em seu encalço.
As quatro horas da madrugada o tráfego em sentido contrário é esparso, mas cada par de faróis murmura entre os pêlos finos dos ouvidos de Edgler Vess. É um som agradável, distinto do barulho dos motores e do efeito Doppler dos pneus dos outros veículos no asfalto.
Enquanto guia, ele come uma das barras de chocolate Hershey. A suavidade do chocolate derretendo em sua boca lembra-o da música de Ângelo Badalamenti, e a música de Badalamenti o faz pensar na superfície cerosa de um antúrio vermelho, e o antúrio desencadeia uma sensual recordação do gosto frio e penetrante de pequenos pepinos em conserva, o qual por vários segundos prevalece por completo sobre o sabor verdadeiro do chocolate.
Ouvindo o murmúrio dos faróis, empenhado nessa livre associação de dados sensoriais e memória, Vess é um homem feliz. Vive a vida muito mais intensamente do que as outras pessoas; é uma singularidade. Pelo fato de sua mente não estar atravancada por tolices e emoções falsas, é capaz de perceber o que os outros não percebem. Compreende a natureza do mundo, o propósito da existência e a verdade que está por trás da Grande Mentira; por causa dessas percepções, ele é livre, e por ser livre, é sempre feliz.
A natureza do mundo é a sensação. Estamos à deriva num oceano de estímulos sensoriais: movimento, cor, textura, forma, calor, sinfonias de sons naturais, uma quantidade infinita de odores, sabores além da capacidade humana de catalogar. Nada perdura além da sensação. Todas as coisas vivas morrem. As grandes cidades não duram para sempre. O metal é corroído e a pedra se estatela. Ao longo dos milênios, os continentes são transformados, cordilheiras inteiras desaparecem e mares secam. O próprio planeta será vaporizado quando o sol se autodestruir. Mas mesmo no vazio do espaço profundo, entre os sistema solares, no vácuo em que nenhum som se propaga, ainda há luz e trevas, frio, movimento, forma e o terrível panorama da eternidade.
O único propósito da existência é abrir-se à sensação e satisfazer todas as vontades à medida que surgem. Edgler Vess sabe que não há sensação boa ou má, mas apenas a sensação pura, e que toda experiência sensorial vale a pena. Valores negativos e positivos são apenas interpretações humanas de estímulos de valor neutro; portanto, são tão duradouros — ou seja, sem sentido — quanto os próprios seres humanos. Ele aprecia o gosto amargo tanto quanto desfruta a doçura de um pêssego maduro; até chega a mastigar de vez em quando algumas aspirinas, não para aliviar uma dor de cabeça, mas para saborear o incomparável paladar do medicamento. Quando por acaso se corta, nunca tem medo, porque acha a dor fascinante e a acolhe como apenas outra forma de prazer; até mesmo o gosto de seu próprio sangue o atrai.
Mr. Vess não tem certeza se existe a alma imortal, mas tem a inabalável certeza de que se a alma existe, não nascemos com ela assim como nascemos com olhos e ouvidos. Acredita que a alma, se for real, cresce da mesma maneira que os recifes de coral crescem do acúmulo dos incontáveis milhões de esqueletos calcários deixados por pólipos marinhos. No entanto, construímos o recife da alma não de pólipos mortos, mas de sensações acumuladas ao longo da vida. Na ponderada opinião de Vess, se alguém deseja ter uma alma formidável — ou qualquer alma, diga-se de passagem —, deve se abrir a todas as sensações possíveis, mergulhar no insondável oceano dos estímulos sensoriais que é o nosso mundo e experimentá-los sem nenhuma consideração pelo bem ou o mal, certo ou errado, sem nenhum medo, apenas com firmeza. Se essa convicção é correta, então ele próprio está desenvolvendo a mais intrincada, elaborada — se não barroca — e importante alma que jamais transcendeu este nível da existência.
A Grande Mentira é que conceitos como amor, culpa e ódio são reais. Ponham Mr. Vess numa sala com qualquer sacerdote, mostrem-lhes um lápis e vão concordar na cor, tamanho e formato. Tapem os olhos dos dois, aproximem canela a seus narizes e vão identificá-la pelo cheiro. Mas levem à presença deles uma mãe aninhando seu filho pequeno: o sacerdote verá amor, enquanto Mr. Vess verá apenas uma mulher que aprecia as sensações proporcionadas pelo bebê, o cheiro de banho tomado, a maciez da pele rosada, o rosto arredondado e inegavelmente atraente, a musicalidade do riso. O aparente desamparo e a dependência satisfazem-na profundamente. A grande praga da alta inteligência da humanidade é que a maioria dos membros da espécie encara um simples anseio como mais do que é de fato. Todos os homens e mulheres, na opinião de Vess, não são no fundo mais do que animais: animais inteligentes, sem dúvida, mas ainda assim animais; os répteis evoluíram do peixe com pernas que primeiro saiu do mar primordial. Ele sabe que as pessoas são motivadas e formadas apenas por estímulos sensoriais, ainda incapazes de admitir o primado das sensações físicas sobre o intelecto e a emoção. Até se assustam com a percepção de réptil que possuem, com suas necessidades e fomes, e tentam restringir as sensações por meio de mentiras como amor, culpa, ódio, coragem, lealdade e honra.
Esta é a filosofia de Mr. Edgler Vess. Ele aceita sua natureza reptiliana. Sua glória pode ser encontrada na acumulação incomparável de sensações. E uma filosofia funcional, que não exige rótulos para endossá-la, nem valores concretos que tanto estorvam as pessoas religiosas, nem as contradições embaraçosas da ética situacional que caracterizam tanto o ateu moderno quanto aqueles cuja religião é a política.
A vida apenas é. Vess vive. Essa é a soma de tudo.
Enquanto segue para o norte, pela Rodovia 101, Vess termina de comer a segunda das duas barras de chocolate Hershey, considerando, não pela primeira vez, que há uma semelhança entre a textura do chocolate derretido e a do sangue coagulado.
Recorda-se do silêncio repousante da poça de sangue em torno de Mrs. Templeton no boxe do chuveiro, antes de ser perturbada pela água fria caindo.
A lembrança do tamborilar naquele boxe leva-o a pensar na frieza de toda a chuva que ainda vai cair na tempestade iminente para a qual se dirige.
Avista um relâmpago diante das nuvens e sabe que tem o gosto de ozônio.
Por cima do ronco monótono do motor do veículo ele ouve uma trovoada, e esse som é também uma imagem vivida em sua mente: os olhos do jovem oriental se arregalando ao primeiro disparo da escopeta.
Mesmo no vazio sem ar entre as galáxias: luz e trevas, cor, textura, movimento, forma e dor.
A estrada subiu e a floresta cercava o caminho. Numa curva larga, os faróis do Honda iluminaram as colinas, revelando que algumas das árvores ao redor eram pinheiros e espruces. Muito em breve, talvez, houvesse também sequóias.
Chyna manteve o pé calcado no acelerador. Até onde se lembrava, era a primeira vez na vida que ultrapassava o limite de velocidade. Nunca recebera uma multa de trânsito, mas ficaria feliz se agora algum guarda a obrigasse a parar.
Seu prontuário impecável resultava de uma preferência pela moderação em todas as coisas, inclusive no ritmo em que dirigia em circunstâncias normais. A julgar pelas catástrofes que vira se abater sobre outras pessoas, a sobrevivência se relacionava em grande parte à moderação. Toda a sua vida se baseara na sobrevivência, assim como a vida de uma freira podia ser definida pela palavra fé ou a de qualquer político por poder. Raramente bebia mais que um copo de vinho, nunca usava drogas, não praticava esportes perigosos, sua dieta era baixa em gordura, sal e açúcar, jamais expressava suas opiniões mais fortes e se mantinha de um modo geral numa insignificância segura — tudo na tentativa de sobreviver.
Contra todas as expectativas, já sobrevivera aos acontecimentos das últimas horas. O assassino nem mesmo sabia que ela existia. Conseguira escapar". Estava livre. Tudo havia terminado. A atitude mais inteligente e sensata — uma atitude característica de Chyna — seria deixá-lo ir embora, apenas deixá-lo escapar, sair para o acostamento, parar o carro, entregar-se ao tremor que vinha reprimindo com vigor e agradecer a Deus por estar incólume e viva.
Enquanto guiava, Chyna argumentou contra sua convicção anterior, insistindo que a adolescente no porão, a Ariel do rosto angelical, não era real. A foto podia ser de uma moça que ele já matara. A história de seu encarceramento podia ser apenas uma fantasia doentia, uma versão psicótica de um conto dos Irmãos Grimm, uma Rapunzel subterrânea, apenas um jogo mental que ele travara com os dois empregados do posto.
— Mentirosa! — ela disse a si mesma.
A moça na foto estava viva em algum lugar, aprisionada. Ariel não era uma fantasia. Na verdade, era Chyna; as duas eram uma única pessoa, porque todas as jovens perdidas são uma só, unidas por seu sofrimento.
Ela continuou a pressionar o acelerador e o Honda subiu uma lombada. Chyna avistou o velho trailer na longa descida à sua frente, a cento e cinqüenta metros de distância. Sua respiração ficou presa na garganta, e exalou com um sussurro:
— Oh, meu Deus...
Aproximava-se do assassino a uma velocidade grande demais. Tratou de diminuir a pressão no acelerador.
Ao chegar a sessenta ou setenta metros do trailer as velocidades eram mais ou menos iguais. Ficou ainda mais para trás, torcendo para que ele não tivesse percebido sua pressa inicial.
O assassino guiava entre oitenta e noventa quilômetros horários, um ritmo prudente naquela estrada, ainda mais porque atravessavam agora um trecho sem canteiro central e com as pistas um pouco mais estreitas do que antes. Não esperaria necessariamente que ela o ultrapassasse e não deveria ficar desconfiado pelo fato de o Honda permanecer lá atrás; afinal, àquela hora sonolenta, nem todos os motoristas da Califórnia tinham uma pressa excessiva ou eram suicidas em potencial.
Naquela velocidade mais razoável, Chyna não tinha de se concentrar tanto quanto antes na estrada à sua frente. Revistou o interior do carro na esperança de encontrar um telefone celular. Era pessimista quanto às possibilidades de um funcionário do plantão noturno de um posto de gasolina ter um celular, mas por outro lado metade do mundo parece ter um hoje em dia, não apenas os vendedores, corretores imobiliários e advogados. Procurou na prateleira por baixo do painel de instrumentos, depois no porta-luvas. Sob o banco do motorista. Infelizmente, seu pessimismo tinha fundamento.
O tráfego para o sul passava pelas pistas ao lado: uma enorme jamanta com um motorista pé-de-chumbo, um Mercedes seguindo-o de perto — e mais atrás um Ford. Chyna dispensava uma atenção especial aos carros, na esperança de avistar uma radiopatrulha.
Se encontrasse a polícia no caminho, pretendia atrair a atenção com a buzina do Honda e se deslocando de um lado para outro da estrada, para que o motorista a visse pelo espelho retrovisor. Se demorasse a tocar a buzina ou o policial não percebesse suas manobras, faria a volta e partiria em seu encalço, deixando relutantemente que o trailer sumisse de sua vista.
Não acalentava a esperança de encontrar um policial tão cedo.
Toda a sorte parecia estar com o assassino. Ele se portava com uma confiança que a enervava. Talvez essa confiança fosse a única garantia de sua sorte — embora até mesmo para uma pessoa realista como Chyna fosse fácil deixar que a superstição a dominasse, atribuindo a ele poderes sinistros e sobrenaturais. " Não. Era apenas um homem. E agora ela tinha um revólver. Não estava mais desamparada.
O pior já passara.
Os raios voltavam a riscar o céu ao norte, mas desta vez não estavam pálidos ou difusos pelas camadas de nuvens. Eram brilhantes como se o sol estivesse rompendo de repente do outro lado da noite.
Naqueles clarões estroboscópicos, o trailer parecia vibrar, como se a ira divina fosse despedaçá-lo e a seu motorista.
Neste mundo, porém, a retaliação cabia aos homens e mulheres mortais. Deus se contentava em esperar pela próxima vida para aplicar a punição; na opinião de Chyna, esse era o único aspecto cruel de Deus, mas já significava crueldade suficiente.
Explosões de trovoadas seguiam-se aos raios. Embora algo devesse acontecer repentinamente, nada acontecia, e a chuva permanecia engarrafada na noite.
Ela se manteve atenta a qualquer sinal de um posto da patrulha rodoviária onde pudesse buscar ajuda, mas nenhum apareceu. A cidade de tamanho razoável mais próxima onde poderia ter a sorte de encontrar uma delegacia de polícia ou uma radiopatrulha era Eureka, que não era nenhuma metrópole. E até mesmo Eureka ficava a pelo menos uma hora de viagem.
Quando criança, estendida embaixo de camas e encolhida no fundo de armários, empoleirada em telhados ou equilibrada nos galhos mais altos de árvores, em estábulos no inverno e nas noites quentes na praia, ela se escondia e esperava que se esvaíssem as paixões e fúrias dos adultos, sempre com medo, mas também com paciência e com um desligamento da realidade do tempo ao melhor estilo zen. Agora a impaciência a atormentava como nunca. Queria ver aquele homem capturado, algemado, levado à justiça, ferido. Queria isso desesperadamente e sem um único minuto adicional de atraso, antes que ele pudesse matar de novo. Sua própria sobrevivência não estava em jogo no momento, mas sim a de uma adolescente que jamais conhecera, e se surpreendia — e ficava apreensiva — ao descobrir que conseguia se importar tanto com uma estranha.
Talvez sempre possuísse essa capacidade, apenas nunca estivera numa situação que exigisse seu reconhecimento. Mas não. Estava tentando se iludir. Há dez anos nunca teria seguido o trailer. Nem há cinco anos. Nem no ano passado. Talvez nem mesmo ontem.
Alguma coisa a mudara profundamente, e não fora a brutalidade que testemunhara poucas horas antes, na casa dos Templeton. Tinha a consciência visceral de que essa inquietante metamorfose começara há muito tempo, como uma lenta alteração no curso de um rio, por frações imperceptíveis de um grau, dia após dia. E de repente, a mera sobrevivência já não era mais suficiente para ela; a barreira final de terra desmoronava, a última pedra era removida e o destino do rio mudava.
Chyna estava assustada com aquela exacerbada preocupação por outras pessoas.
Mais raios, ainda mais intensos do que antes, revelaram sequóias tão grandes que a lembravam de torres de catedral. O clarão ofuscante era sucedido por trovoadas violentas como tremores de terra na falha de San Andreas. O céu acabou por se abrir, e a chuva desabou.
No primeiro instante, as gotas eram enormes e de um tom branco leitoso à luz dos faróis, como se a noite fosse um lustre apagado em que se encontrava suspensa uma quantidade infinita de pingentes de cristal. Espatifavam-se no pára-brisa, contra o capo, contra o asfalto.
Em segundos, as gotas diminuíram drasticamente de tamanho, enquanto aumentavam em número. Tornaram-se cinza-prateadas sob a luz dos faróis, e já não caíam retas como antes, mas num ângulo determinado pelo vento implacável.
Chyna acionou os limpadores do pára-brisa na velocidade maior, mas o trailer continuava a se distanciar depressa na tempestade, à medida que a visibilidade diminuía. O assassino não reduzia a velocidade em respeito ao tempo pior; ao contrário, ele acelerava.
Com receio de deixá-lo escapar de sua vista por um segundo sequer, Chyna reduziu a distância que os separava para cerca de sessenta metros. Preocupada com a possibilidade de ele atribuir o significado correto à sua manobra e compreender que ela o seguia.
O tráfego para o sul já era escasso no começo, mas agora declinara na proporção direta da força da tempestade que aumentava, como se a maioria dos motoristas tivesse sido jogada pela água para fora da estrada.
Também não havia faróis no espelho retrovisor de Chyna. O psicótico no trailer mantinha um ritmo que ninguém além dela seria capaz de acompanhar.
Ela quase se sentia tão sozinha com ele agora quanto estivera dentro do matadouro sobre rodas.
Depois, quando o passar do tempo já tornara os trechos solitários de asfalto e as terríveis cataratas de chuva menos ameaçadores e mais monótonos, o assassino tornou a surpreendê-la. Com uma freada repentina, sem se dar ao trabalho de ligar a seta, ele virou à direita numa pista de saída da rodovia.
Chyna diminuiu a velocidade, outra vez preocupada que ele ficasse desconfiado ao vê-la pegar a mesma saída. Como eram os dois únicos veículos à vista, não podia chamar atenção. Mas também não tinha outra opção que não fosse segui-lo.
Quando ela chegou ao final da rampa, o trailer já havia desaparecido na chuva e na neblina, mas no início da curva avistara-o virando à esquerda. Na verdade, a estrada de duas faixas levava apenas para oeste, e uma placa indicava que ela já se encontrava dentro dos limites do Parque Estadual da Sequóia Humboldt.
A placa anunciava também aproximação de três comunidades à frente: Honeydew, Petrolia e Capetown. Chyna nunca ouvira falar de nenhuma delas, e tinha certeza de que eram apenas pouco mais que lugarejos à beira da estrada, onde não encontraria nenhum policial.
Inclinada para a frente sobre o volante, observando atentamente com os olhos contraídos pelo pára-brisa manchado pela chuva, ela entrou no parque, ansiosa em alcançar o assassino, porque ele podia morar numa daquelas pequenas cidades ou nas proximidades. Era sensato deixado sumir de sua vista por um momento, para que ele não pensasse que Chyna estava ansiosa demais em permanecer logo atrás dele. Mas muito em breve teria de restabelecer o contato visual, antes que ele alcançasse o outro lado do parque e, talvez em seguida, deixasse a estrada local e entrasse num caminho particular.
Quanto mais a estrada se embrenhava entre as árvores muito altas, a chuva batia no Honda com menos vigor. A tempestade não diminuíra, mas a cobertura das sequóias resguardava a estrada do pior do dilúvio.
Naquela estrada mais estreita e sinuosa não era possível manter a mesma velocidade da Rodovia 101. Além disso, o assassino aparentemente concluíra que não mais precisava ganhar tempo, talvez por ter alcançado o que parecia ser uma distância segura dos mortos no posto. Quando Chyna o alcançou, em pouco mais de um minuto, ele guiava abaixo do limite máximo de velocidade.
Agora, mais perto do que em qualquer outra ocasião anterior, ela notou que o trailer não tinha placas. A Califórnia — c alguns outros estados, pelo que ela sabia — não emitiam placas temporárias para veículos recém-adquiridos. Era legal guiar sem as placas até que o Departamento de Veículos Motorizados as enviasse pelo correio. Ou talvez o assassino, antes de ir para a casa dos Templeton, tivesse tirado as placas para não correr o risco de encontrar uma testemunha com boa memória.
Chyna atenuou a pressão no acelerador e olhou para o velocímetro e viu uma luz vermelha de advertência. A agulha do tanque de combustível se encontrava abaixo da marca de vazio.
Não sabia há quanto tempo a luz estava acesa, porque se concentrara por completo no trailer e nos perigos da estrada escorregadia. Podiam restar ainda dois ou três litros no tanque — ou naquele momento estariam sendo usadas as últimas gotas.
Seguir o assassino até sua casa não era mais uma opção.
O significado das sequóias não é a grandiosidade, beleza, paz ou intemporalidade da natureza. O significado das sequóias é o poder.
Enquanto dirige, Edgler Vess baixa a janela ao seu lado e aspira profundamente o ar frio, impregnado pela fragrância das sequóias, que é o cheiro do poder. Esse poder entra nele com a fragrância, e seu próprio poder é reforçado.
As sequóias são o poder porque seu enorme tamanho não é igualado por nenhuma outra árvore, porque são antigas — muitos daqueles espécimes já existiam antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo — e porque sua extraordinária casca, grossa como uma armadura e com alto teor de tanino, as torna quase impenetráveis aos insetos, às doenças e ao fogo. São o poder porque resistem, enquanto tudo ao redor morre; homens e animais circulam entre elas e se vão para sempre; as aves pousam nos galhos mais altos e parecem mais livres do que qualquer outra coisa enraizada na rocha e no solo, mas ao final, com um súbito silêncio no coração, caem dos galhos fortes ou despencam do céu para o chão, enquanto as árvores continuam a crescer; no fundo ensombreado desses bosques, samambaias e rododentros que não precisam de muito sol vicejam estação após estação, mas sua imortalidade é ilusória, pois também morrem, e novas gerações da espécie afloram nos restos decompostos das antigas. Cristo expirou numa cruz de corniso, o príncipe da paz e profeta do amor, mas no decurso de sua vida nenhuma daquelas árvores foi derrubada por uma tempestade; embora não se preocupem com a paz e nada saibam do amor, elas perduraram. Ativamente empenhada em sua colheita interminável, a Morte lança sombras frenéticas entre as sequóias indiferentes, um bruxuleio incessante que dança pelos troncos maciços sem nenhum efeito, o equivalente sombrio de labaredas lambendo as pedras de uma lareira.
O poder vive, enquanto outros inevitavelmente perecem. O poder é a indiferença fria ao sofrimento alheio. O poder é extrair alimento da morte dos outros, assim como as poderosas sequóias extraem sustento da perpétua decomposição do que antes viveu, mas viveu apenas por um instante, ao seu redor. Isso é também parte da filosofia de Edgler Foreman Vess.
Pela janela aberta, ele respira a fragrância das sequóias, e as moléculas da fragrância aderem às células da superfície de seus pulmões. O poder dos milênios é transmitido assim para o sangue recém-oxigenado que bombeia seu coração, alcança todas as extremidades de seu corpo, enchendo-o com força e energia.
Poder é Deus, Deus é natureza, natureza é poder, e o poder está em Vess.
Seu poder está sempre aumentando.
Se ele tivesse uma religião, seria um fervoroso panteísta, com a convicção de que todas as coisas são sagradas, cada árvore, cada flor e cada folha de relva, cada ave e cada inseto. O mundo está repleto de panteístas hoje em dia; ele se sentiria à vontade entre eles se quisesse ingressar em suas fileiras. Quando tudo é sagrado, nada é. Esta é a beleza do panteísmo. Se a vida de uma criança é igual à vida de um bagre ou de uma coruja, então Vess pode achar agradável matar meninas com a mesma indiferença com que esmaga um escorpião com o pé, sem grande ofensa moral, embora com um prazer muito maior.
Mas ele não adora nada.
Ao fazer uma curva para uma reta flanqueada por sequóias, com um diâmetro ainda maior do que todas as que vira antes, ossos brancos de relâmpagos cortam a pele negra do céu Uma trovoada que mais parece um berro de raiva sacode o ar.
A chuva lava o cheiro do raio na noite. Duas fragrâncias de poder, a do raio e a das sequóias — eletricidade e tempo, calor intenso e resistência impassível — lhe são oferecidas agora, e ele as inala com profunda satisfação.
Pegar aquela estrada do condado entre as sequóias, ao longo da costa, retornando à Rodovia 101 depois de Eureka, vai aumentar seu tempo de viagem em meia hora a uma hora, dependendo da velocidade que imprimir ao trailer e da força da tempestade. Por mais ansioso que estivesse em voltar para Ariel, não poderia resistir ao poder das sequóias.
Aparecem faróis lá atrás, visíveis no espelho lateral. Um carro. Por quase uma hora um carro seguiu-o na rodovia, mantendo-se àquela distância. Este deve ser um veículo diferente, porque seu motorista é mais apressado que o outro da rodovia, encurtando a distância que os separa em alta velocidade.
Afoito, o motorista do carro — um Honda — se prepara para ultrapassar o trailer, passando para a faixa destinada ao tráfego em sentido contrário, embora seja um trecho de ultrapassagem proibida. Não há mais nenhum veículo à vista e eles estão numa reta, mas o Honda não dispõe de distância suficiente para completar a manobra antes da próxima curva para a direita na estrada, ainda mais no asfalto traiçoeiro e escorregadio de chuva.
Vess reduz a velocidade.
O Honda emparelha.
Vess olha pelo pára-brisa do carro, mas mal consegue vislumbrar a pessoa ao volante, porque a chuva e os limpadores de pára-brisa em movimento rápido prejudicam a visão. Nada mais do que uma sugestão de uma camisa ou suéter vermelha. Uma mão pálida ao volante. O pulso é fino o bastante para indicar que deve ser uma mulher. Parece estar sozinha. Depois o carro se adianta e Vess passa a olhar o teto dele, pois já não consegue mais avistar o pára-brisa Estão chegando à curva .
Vess reduz ainda mais a velocidade.
Pela janela aberta, ouve a queixa do Honda quando a mulher acelera. Toda a formidável potência daquele motor parece pateticamente fraca naquele bosque majestoso, como o zumbido irado de um mosquito no meio de uma manada de elefantes.
Com tão pouco esforço que nem afetaria seus batimentos cardíacos, Vess poderia dar uma guinada no volante para a esquerda, jogar o trailer contra o Honda, forçá-lo a sair da estrada. O carro capotaria e depois explodiria... ou colidiria de frente com algum tronco de sequóia de seis metros de diâmetro
Ele se sente tentado.
O espetáculo seria gratificante.
Só poupa a mulher no Honda porque está com ânimo para uma sensação mais sutil, não assim explosiva. Aquela expedição das mais satisfatórias levou-o não apenas à família no vale de Napa que partira para destruir, mas também ao carona agora pendurado no closet do quarto, como o amante de Amontillado no conto de Poe, encarcerado na adega por um muro de pedra, sem falar nos dois funcionários do posto de gasolina. Já é uma grande riqueza para saciar-se O recife da alma é construído de experiências variadas, não de sensações repetitivas. Naquele momento ele não precisa da música sombria do sangue e do calor estimulante de gritos; em vez disso, necessita cheirar a umidade da chuva, impressionar-se com as árvores gigantescas, ouvir o sussurro das samambaias ocultas pela noite.
Pisa no freio, diminuindo a velocidade.
O Honda o ultrapassa, lançando um lençol de água barrenta. Entra na curva mais adiante com uma freada brusca: vermelho na tempestade negra, brilho vermelho se refletindo nos troncos molhados das imensas coníferas, marcas apocalípticas de vermelho correndo pelo asfalto. E depois desaparece.
Edgler Vess fica outra vez sozinho, ao volante de sua arca, num mundo sem cor de chuva cinza, sombras negras e o branco cintilante dos fachos dos faróis, em paz para comungar com as sequóias e extrair delas um pouco de seu poder.
Pensa em Cristo, no leito vertical de corniso, e a idéia dos humildes herdando a Terra o faz sorrir. Ele é um fogo impetuoso, poderoso e quente; queimará toda a cor de seu mundo, consumirá cada centelha de sensação que tiver a oferecer e deixará para trás um reino de cinzas. Que os humildes herdem as cinzas.
Ao ultrapassar o trailer, rápido demais para evitar que o Honda fizesse toda a curva na faixa contrária, Chyna teve medo de que o motor quase seco tossisse, afogasse e parasse. Agora que vira a luz vermelha de advertência, estava consciente de sua persistência — um brilho periférico, mesmo quando não olhava para o painel de instrumentos. Mas o Honda continuava a correr, confiante, consumindo a borra, o vapor, por alguma estranha graça.
Precisava distanciar-se do assassino, ganhar tempo para executar seu plano. Tratou de acelerar tanto quanto ousava no asfalto engraxado pela chuva.
A estrada estreita fez outra curva, entrou numa reta, iniciou um declive suave, mais uma curva, outro aclive, uma nova descida. Apesar das interrupções intermitentes dessas pequenas elevações, a paisagem era em geral monótona em seus contornos, seguindo sempre na direção do Pacífico, não muitos quilômetros a oeste. Havia agora taludes baixos de terra ladeando o asfalto, ao longo dos acostamentos, e o trecho não era apropriado aos propósitos de Chyna. Mas logo a estrada retornou ao mesmo nível da floresta ao redor, e ela entrou numa reta com um declive quase imperceptível, encontrando as circunstâncias ideais de que precisava.
Calculou que ganhara um minuto de vantagem, talvez um minuto e meio, dependendo se ele aumentara muito a velocidade depois da ultrapassagem. Mas um minuto deveria ser suficiente.
Ela diminuiu a velocidade para cinqüenta quilômetros horários, mas mesmo assim parecia estar voando pelo bosque. Deixou a velocidade diminuir para quarenta, especulando mais uma vez sobre seu ímpeto precipitado ao heroísmo, mas ainda incapaz de compreendê-lo direito. Depois saiu da estrada, passou pelo acostamento da direita, atravessou uma vala rasa de drenagem e foi bater na base de uma das maiores sequóias. O farol da esquerda quebrou, o pára-choque estalou e cedeu, exatamente como fora projetado para fazer, e o metal rangeu por um instante.
Por estar usando o cinto de segurança, ela não foi lançada sobre o volante ou através do pára-brisa, mas o cinto em diagonal apertou seus seios com tanta força que lhe arrancou um grunhido de choque e dor. O motor ainda estava funcionando.
Sem tempo para saltar e inspecionar a frente do carro, Chyna receou que os danos não fossem bastante impressionantes para convencer o assassino de que alguém podia ter se ferido no acidente. Quando ele alcançasse o local, dali a poucos segundos, tinha de aceitar a situação pelo que parecia, sem hesitação. Caso contrário, se ele ficasse desconfiado, nada seria como ela planejara.
No mesmo instante, ela engrenou o Honda em marcha à ré e recuou da árvore, que parecia inviolada. Havia no chão um tapete de folhas de sequóia molhadas. Os pneus giraram em falso por um momento, antes de encontrarem aderência, mas não chovera o suficiente para transformar a terra em lama. Chocalhando, tremendo todo, o carro tornou a atravessar a vala rasa de drenagem sobre a qual havia dois ou três centímetros de água lamacenta, e voltou para a estrada.
Chyna olhou pela suave descida que acabara de percorrer. Ainda não havia nenhum brilho de faróis se aproximando depois da curva.
Mas ele estava chegando. Com toda certeza. Só mais um pouco.
Não tinha tempo para recuar nem mesmo por uma parte da encosta, mas precisava pegar um pouco de velocidade.
Com o pé esquerdo, ela comprimiu o pedal do freio até onde conseguia, enquanto o direito pisava no acelerador. O carro se sacudiu, como um cavalo de rodeio se comprimindo contra o portão de saída. Chyna podia senti-lo querendo arremeter adiante, como se fosse uma coisa viva, e se perguntou quanta aceleração seria demais, a ponto de matá-la ou deixá-la presa nas ferragens. Então acelerou mais ainda, sentiu alguma coisa queimando e tirou o pé esquerdo do freio.
Os pneus giraram furiosos sobre o asfalto brilhante e, com um estremecimento, o Honda projetou-se para a frente, atravessou a vala e se chocou contra o tronco da sequóia. O farol direito se quebrou, o metal guinchou, o capo amassou, estalou e se abriu com um som estranho, como uma corda dedilhada num banjo, mas o pára-brisa não se espatifou.
O motor tossiu. Ou o combustível finalmente acabara, ou o choque provocara um grave dano mecânico.
Com a respiração ofegante, depois da punição do cinto de segurança, rezando para que o motor não pifasse ainda, Chyna tornou a engrenar a marcha à ré.
O ideal era que o Honda estivesse bloqueando a estrada quando o trailer saísse da curva. Tinha de obrigar o assassino a parar — e a saltar.
O carro avariado emitiu um chiado, quase parou, mas depois inesperadamente acelerou. Chyna balbuciou agradecida um "Ah, Deus...", enquanto voltava para a estrada.
Parou atravessada nas duas pistas, mas um pouco virada para a encosta, a fim de que o assassino pudesse ver a frente avariada assim que terminasse de fazer a curva.
O motor tossiu duas vezes e morreu, mas isso já não era problema. Ela já estava no lugar certo.
Sem o barulho do motor para atrapalhar, a chuva parecia estar caindo com mais vigor do que antes, batendo no teto e tamborilando no vidro.
A escuridão ainda persistia na curva lá em cima.
Chyna engrenou o Honda, a fim de que não deslizasse para trás no momento em que tirasse o pé do freio.
Os faróis haviam se quebrado, mas os limpadores de pára-brisa continuavam a se deslocar de um lado para o, outro, operando com a energia da bateria. Ela não os desligou.
Abriu a porta do motorista, sentindo-se horrivelmente exposta à luz do teto, e começou a sair. Precisava estar fora do carro e escondida quando o trailer aparecesse — o que deveria acontecer em vinte segundos, talvez dez, era difícil determinar, porque perdera a noção de quanto tempo transcorrera desde que saíra da curva.
O revólver.
Antes de sair do carro, Chyna lembrou-se do revólver. Tornou a se inclinar para dentro para pegá-lo, mas ele não estava mais no banco.
Na primeira ou segunda colisão o revólver devia ter sido jogado para o chão. Ela inclinou-se sobre o consolo entre os bancos, tateou freneticamente na escuridão, encontrou o aço frio, o cano, os dedos se ajeitaram ao redor. Com um murmúrio silencioso de alívio, ergueu o revólver, segurou-o pela coronha.
Com a arma na mão, saiu do Honda. Deixou a porta do motorista aberta.
A chuva e o vento deixaram-na enregelada.
Na direção de onde viera, a noite clareava um pouco, os troncos das sequóias perto do acostamento da curva começaram a brilhar, como se ao brilho de um súbito luar.
Chyna correu pelo asfalto escorregadio, passou por outra vala rasa de drenagem, estremecendo quando a água gelada encobriu seus sapatos. Neste lado da estrada as árvores estavam a sete ou oito metros do acostamento. Ela se encaminhou para um ponto bem em frente à gigantesca sequóia contra a qual lançara o carro.
Muito antes de alcançar a árvore mais próxima, ela escorregou no tapete esponjoso de folhas úmidas e caiu em cima de um amontoado de pinhas de sequóia. As pinhas cederam, causando um estalido forte na altura de sua cintura. A julgar pela dor súbita, quase pareceu que sua espinha fora a fonte do estalo.
Ela teria preferido engatinhar até um esconderijo, mas tinha de segurar o revólver e receava a possibilidade de obstruir o cano com terra ou folhas molhadas. Por isso, tratou de se levantar e continuou a avançar, enquanto o fim da estrada se iluminava e um motor disputava ruidoso com a tempestade.
O trailer fizera a curva.
Ela se encontrava a uns cinco metros da estrada, o que não era suficiente, porque havia poucas moitas para servir de esconderijo sob as gigantescas sequóias — em grande parte samambaias que estavam um pouco mais distantes. Ele não podia vê-la. Tudo estaria perdido se o assassino a vislumbrasse correndo para se esconder.
Por sorte, seu jeans era escuro, a suéter era vermelho-escura, não tão ruim quanto seria se fosse amarela ou branca, e os cabelos não eram louros, mas escuros. Mesmo assim, ela se sentia tão visível quanto se estivesse correndo para se esconder num vestido de noiva.
Ele estaria concentrado no Honda, surpreso em avistá-lo atravessado nas duas faixas. Não olharia de imediato para o lado da estrada, e quando sua atenção se desviasse do carro seria mais provável que se virasse para a direita, onde o Honda se projetara contra a árvore, não para a esquerda, onde Chyna procurava abrigo.
Ela disse a si mesma que estava segura e não fora vista, mas sem chegar a acreditar em si mesma, enquanto alcançava a primeira falange de sequóias maciças. Cresciam espantosamente próximas umas das outras, considerando seu tamanho assustador. Ela contornou o tronco enrugado de uma árvore com cinco metros de diâmetro que crescera em tamanha intimidade com outro espécime ainda maior que a passagem entre a dupla gigantesca tinha apenas meio metro.
Os galhos mais baixos acima dela ficavam a cinqüenta ou sessenta metros de altura, visíveis apenas quando os raios os iluminavam. Postar-se entre aqueles troncos era mais ou menos como ficar entre as colunas da nave de uma catedral vasta demais para ser construída neste lado do Paraíso; os galhos eriçados formavam abóbadas imponentes da altura de quinze andares.
De seu refugio úmido e enclausurado, Chyna olhou cautelosamente para a estrada.
Por trás do emaranhado das samambaias baixas, prateando a chuva e se tornando mais intensos a cada segundo, surgiam os faróis do trailer, acompanhados pelo suave gemido dos freios hidráulicos.
Mr. Vess pára no meio da pista, já que o acostamento não é bastante largo e firme para acomodar seu trailer. Embora aquela estrada pitoresca seja pouco usada naquelas horas que antecedem o amanhecer e com um tempo tão ruim, ele é avesso a bloquear o trânsito por mais tempo do que o absolutamente necessário. Conhece as leis de trânsito da Califórnia.
Ele engrena o veículo em ponto morto, puxa o freio de mão, mas deixa o motor ligado e os faróis acesos. Não se dá ao trabalho de vestir a capa e deixa a porta aberta ao sair.
A chuva tamborila na estrada, canta no metal dos veículos e se transforma num coro sem palavras ao bater na folhagem. Os sons da chuva o agradam, assim como o frio, assim como o cheiro fecundo das samambaias e do solo argiloso.
É o mesmo Honda que o ultrapassou minutos antes. Ele não se surpreende por vê-lo naquele estado lamentável, considerando a velocidade imprudente com que viajava.
É evidente que o carro saiu da estrada e bateu na árvore. E depois a motorista voltou para a estrada antes que o motor pifasse.
Mas onde está ela?
Outra pessoa pode ter vindo do oeste e levado a motorista ferida para receber tratamento médico. Mas isso parece muito fortuito e oportuno. Afinal, o acidente não pode ter ocorrido há mais que um ou dois minutos.
A porta está aberta. Vess inclina-se para dentro e vê as chaves na ignição. Os limpadores de pára-brisa ainda se deslocam de um lado para outro. As luzes traseiras, a lâmpada no teto e os mostradores no painel de instrumentos estão acesos.
Ele se afasta do carro e olha a árvore para onde seguem as marcas de pneus. A casca ficou marcada pelo impacto, mas apenas superficialmente.
Intrigado, Vess esquadrinha a área do bosque naquele lado da estrada.
É bem possível que a mulher tenha saltado do carro avariado, meio atordoada de um golpe na cabeça, e entrado por entre as sequóias. Neste exato instante ela pode estar se embrenhando mais e mais por aquela mata antiga, perdida e confusa — ou talvez tenha desmaiado devido aos ferimentos sofridos e esteja caída inconsciente entre as samambaias.
As árvores muito juntas formam um labirinto de corredores estreitos.
Mesmo ao meio-dia, com um céu sem nuvens, o sol só penetraria até o fundo do bosque com uns poucos raios tênues; a escuridão obstinada se imporia na maior parte daquelas profundezas, como se cada uma das muitas centenas de milhares de noites desde o início da existência do bosque tivesse deixado seus resíduos de sombra. Agora, ainda na parte encantada: da madrugada, essa escuridão é tão pura que quase parece uma coisa viva à espreita, predadora mas ainda assim acolhedora.
Essa escuridão especial agita Mr. Vess e o leva a ansiar por experiência que sente disponíveis, mas que não consegue imaginar, experiências que são misteriosas e transformadoras, embora não consiga projetá-las nem vagamente. Em meio às sequóias, por corredores de casca fissurada, em alguma cidadela secreta de paixão bestial habitada por sombras mais antiga do que a história humana, uma aventura mística o aguarda.
Se a mulher está mesmo vagueando pelo bosque, ele poder::. estacionar o trailer e procurá-la. Talvez o facão que encontrara no pos: de gasolina seja afinal de contas um presságio, e talvez fosse dela o sangue fadado a ser derramado com aquela lâmina.
Vess imagina como seria tirar suas roupas e entrar nu no bosque, com o facão na mão, confiando apenas em seus instintos primitivos para encontrá-la e liquidá-la; a chuva e a névoa fina em sua pele, o ar fumegando depois de respirá-lo, sem absorver a frieza da chuva, mas irradiando seu calor p; a noite, arrancando as roupas da mulher, enquanto a arrasta pelo bosque. Já está excitado com o devaneio, mas especula se a atacaria primeiro com o facão ou o falo — ou talvez com os dentes. Tal decisão seria tomada no momento da captura, e dependeria muito do quanto ela é atraente; mas está convencido de que qualquer coisa que pudesse acontecer entre os dois seria sem precedentes e misterioso — e de infinita intensidade.
No entanto, dentro de uma hora ou pouco mais que isso estará amanhecendo, e seria mais sensato seguir viagem. Deve aumentar distância entre ele e os lugares onde se divertira naquela noite.
A competência para ser Edgler Vess exige, entre outras qualidades, capacidade de reprimir as paixões mais ardentes quando se entregar a ela se torna perigoso. Se satisfizesse de imediato todos os seus desejos, seria menos um homem do que um animal — e estaria morto ou preso por muito tempo. Ser Edgler Vess significa ser livre, mas não imprudente, ser rápido, mas não impulsivo. Ele precisa ter um senso de proporção. E noção de oportunidade. Precisa do ritmo de um sapateador. E um sorriso insinuante. Um sorriso realmente simpático combinado com autocontrole podem levar uma pessoa longe.
Ele sorri para o bosque.
O trailer estava parado na estrada, a seis ou sete metros do Honda avariado, parecendo pequeno, perto das sequóias.
Enquanto o assassino se encaminhava para o carro abandonado, iluminado pelos faróis do trailer, Chyna subiu a encosta pelo bosque escuro, paralela a ele, mas na direção oposta. Contornou uma árvore, o revólver na mão direita, a mão esquerda apoiada no tronco para se equilibrar, caso tropeçasse em uma raiz ou outro obstáculo. Sob a palma, sentiu a o padrão de repetidas arcadas góticas formadas pelas fissuras na casca grossa. A cada passo incerto que dava ao redor da enorme curva, sentia que ela parecia menos uma árvore que um prédio, uma fortaleza sem janelas erguida contra toda a raiva do mundo.
Depois de navegar por um hemisfério do tronco até o espaço da largura de seus ombros entre aquela árvore e a seguinte, ela espiou mais uma vez. O assassino estava perto da porta aberta do Honda, olhando para o bosque no outro lado da estrada.
Chyna preocupava-se com a possibilidade de outro motorista aparecer antes que pudesse executar seu plano.
Mas continuou, contornando a árvore seguinte. Era ainda maior do que a anterior. Na casca, as mesmas formas góticas.
Apesar do vento estridente que assobiava lá em cima e dispersava as gotas de chuva dos galhos mais altos, o bosque parecia-lhe um lugar bom e seguro; escuro, mas não no espírito; frio, mas não assustador. Chyna estava sozinha em seu infortúnio, mas curiosamente, pela primeira vez na noite, não se sentia solitária.
Na próxima abertura da muralha de troncos do bosque, ela tornou a olhar e viu o assassino entrar no Honda. Ele teria de afastar o carro avariado, porque não havia espaço suficiente para contorná-lo.
Ela olhou para o trailer. Talvez porque soubesse o que havia lá dentro — um homem morto suspenso por correntes, uma mulher amortalhada por um lençol branco —, o veículo parecia tão sinistro quanto uma máquina de guerra.
Poderia simplesmente esperar no bosque. Esquecer seu plano. Ele partiria, e a vida continuaria.
Era muito fácil esperar. Sobreviver.
A polícia encontraria a garota. Ariel. De alguma forma. Com um pouco de tempo. Sem necessidade de atos heróicos.
Chyna encostou-se na árvore, subitamente fraca. E tremendo. E quase fisicamente doente de desespero e medo.
As luzes traseiras e as luzes internas do Honda diminuíram quando o assassino virou a chave na ignição, tentando fazer o motor pegar.
Foi então que outro ruído alcançou os ouvidos de Chyna. Um sussurro, um estalo, um bufido, como de um cavalo surpreso.
Assustada, ela virou-se.
Na claridade projetada pelo trailer na estrada, Chyna avistou anjos no bosque de sequóias. Ou pelo menos foi o que pareceu por um instante. Rostos gentis a fitavam, pálidos na escuridão, olhos luminosos, inquisitivos e bondosos.
Mas mesmo na claridade mínima, ela não foi capaz de manter por muito tempo a esperança de que fossem anjos. Depois de uma breve confusão inicial, compreendeu que aquelas criaturas eram uma espécie de alce costeiro, sem chifres.
Eram seis, num espaço de cinco metros de largura entre a primeira fileira de árvores e a parte mais profunda do bosque, tão próximos que Chyna poderia alcançá-los com três passos. Tinham as nobres cabeças erguidas, as orelhas levantadas, os olhos fixados nela.
Os alces são animais curiosos, mas, tímidos por natureza, e aqueles pareciam estranhamente não ter medo dela.
Certa vez ela e a mãe passaram dois meses num rancho no Condado de Mendocino, onde um grupo bem armado de adeptos da sobrevivência esperava pelas guerras raciais que, todos tinham certeza, muito em breve destruiriam a nação. Nesse clima de tragédia iminente, Chyna passava o máximo de tempo possível explorando a área ao redor, morros e vales de beleza excepcional, bosques de pinheiros, campinas douradas com carvalhos dispersos — cada um isolado e imenso, os galhos pretos contra o céu — em que pequenas manadas de alces costeiros apareciam de vez em quando, sempre se mantendo a distância dos seres humanos e suas obras. Ela os seguia não como uma caçadora, mas com uma astúcia infantil meio desajeitada, tão tímida quanto os próprios alces, mas atraída de forma irresistível pela a tranqüilidade e a paz que irradiavam num mundo saturado de violência.
Naqueles dois meses, ela nunca conseguira chegar a menos de vinte metros dos alces sem que as manadas reagissem à sua aproximação cuidadosa, escapando para campinas e colinas distantes.
Mas agora os alces é que se aproximavam dela, vigilantes, mas não assustados, como se fossem os mesmos alces de sua infância, finalmente dispostos a acreditar em suas intenções pacíficas.
Os alces costeiros deveriam estar mais próximos do mar, nas campinas abertas além das sequóias, onde a relva era viçosa e verde devido às chuvas de inverno, onde as pastagens eram boas. Embora não fossem estranhos ao bosque, a presença deles ali, na escuridão chuvosa que antecedia o amanhecer, era extraordinária.
E depois Chyna avistou outros, além do grupo de seis — um aqui, outro ali, depois um terceiro e ainda mais — entre as árvores, a uma distância maior do que o grupo inicial. Alguns quase não eram visíveis em meio ao arvoredo frondoso, no final da claridade projetada pelos faróis do trailer, mas ela calculou que havia pelo menos uma dúzia no total, todos imóveis, atentos, como se estivessem paralisados por uma música emanada pelo bosque e inaudível para os humanos.
Um raio espalhou seus galhos pelo céu, lançou raízes irregulares para o solo e por um instante iluminou o bosque, o suficiente para que Chyna visse todos os alces com mais nitidez do que antes. Eram mais numerosos do que pensara. Entre a neblina e as samambaias, entre rododentros com flores vermelhas, revelados pelas pulsações de luz. As cabeças erguidas, a respiração condensando ao sair das narinas pretas. Os olhos fixos nela.
Chyna olhou para a estrada.
O assassino desistira de tentar fazer o motor pegar. Começava a empurrar o Honda para trás na estrada ligeiramente inclinada.
Depois de um último olhar para os alces, Chyna atravessou o espaço entre as duas sequóias.
O assassino girou o volante para a direita, deixando que o impulso do carro o levasse para trás em um movimento curvo, até ficar de frente para a descida.
Entre samambaias dispersas e moitas de capim, Chyna seguiu em direção à estrada. A fraqueza em suas pernas desaparecera, o espasmo de indecisão havia passado.
Guiado pelo assassino, o Honda foi descendo o declive para o acostamento direito.
Ela poderia segui-lo, baleá-lo dentro do carro ou no instante em que saísse. Mas ele se encontrava a uns quarenta ou cinqüenta metros, e com toda certeza perceberia sua aproximação. Não haveria a menor esperança de manter a vantagem da surpresa, e por isso ela teria de atirar para matar, o que de nada serviria a Ariel, porque com o desgraçado morto ainda teriam de procurar a garota, onde quer que estivesse escondida. E talvez nunca a encontrassem. Além do mais, era bem provável que o filho da puta estivesse com uma pistola, e se a confrontação se transformasse num duelo a tiros ele ganharia, porque era muito mais experiente — e mais confiante.
Ela não tinha ninguém a quem recorrer. Como na infância.
Portanto, suma agora de vista, o mais depressa possível. Não seja precipitada. Espere pela situação ideal. Escolha o momento da confrontação e controle-a quando ocorrer.
Outro raio de intensa claridade, uma trovoada prolongada, semelhante a gigantescas estruturas desmoronando pela noite.
Ela aproximou-se do trailer.
Oh, Deus!
A porta do motorista havia ficado aberta.
Oh, Deus!
Não podia fazer aquilo.
Mas tinha de fazer.
Mais abaixo, no acostamento, com um rangido de metal retorcido, o Honda estava parando.
Ela tinha o revólver. Isso fazia toda a diferença. Estava segura com a arma.
Quem salvará a garota escondida no porão, a garota que está amadurecendo para esse filho da puta maluco, a garota que se parece comigo. Quem surge para ajudar as garotas apavoradas escondidas no fundo de armários ou embaixo de camas, a não ser os besouros de palmito ? Quem poderá ajudá-la se não eu, para onde terei de ir se não até lá, porque essa é a única opção — e já que a resposta é tão óbvia, por que perguntar por quê?
Lá embaixo, o Honda finalmente parou.
Com o pesado revólver na mão, Chyna entrou na cabine, esgueirou-se por trás do volante. Contornou o banco do motorista, levantou-se e avançou apressada pelo veículo, sussurrando "Meu Deus! Meu Deus!", dizendo a si mesma que estava tudo bem, aquela loucura que fazia, porque agora tinha um revólver.
Mas não conseguia deixar de se perguntar se a arma lhe daria vantagem suficiente quando chegasse o momento da confrontação com aquele homem.
Claro que talvez nunca ocorresse um enfrentamento direto. Chyna pretendia se esconder até chegarem à casa dele e depois descobrir onde a garota estava sendo mantida cativa. Com essa informação, ela seria capaz de procurar a polícia, que poderia pegar o desgraçado, libertar Ariel e...
E o quê?
E ao salvar a garota, ela se salvaria. Do quê, não tinha certeza. De uma vida de simples sobrevivência? Da luta interminável e infrutífera para conseguir compreender?
Era mesmo uma loucura, mas agora ela não tinha como voltar atrás.
E no fundo sabia que arriscar tudo era uma loucura menor do que levar uma vida sem nenhum objetivo superior à sobrevivência.
Como se estivesse sendo lançada para a frente pelas violentas batidas de seu coração, Chyna alcançou o fundo do trailer. A porta que dava para o único quarto estava fechada. :
Oh, Deus!
Ela não queria entrar ali. Com Laura morta. E o homem no closet. O kit de costura esperando para ser usado novamente.
Oh, Deus!
Mas era o melhor lugar para se esconder, por isso ela abriu a porta e entrou, tornou a fechá-la e foi para a esquerda, pela escuridão palpável, e comprimiu as costas contra a parede.
Talvez ele não seguisse direto para sua casa. Poderia parar em algum ponto intermediário, ir ao quarto para contemplar seus troféus mais uma vez.
Nesse caso ela o mataria no instante em que ele passasse pela porta. Descarregaria o revólver nele. Não correria riscos.
Com ele morto, talvez nunca encontrassem Ariel. Ou conseguiriam encontrá-la só depois que ela houvesse perecido de fome, uma maneira terrível e dolorosa demais para morrer.
Mesmo assim, se o assassino entrasse no quarto, Chyna não confiaria cm meias medidas. Não tentaria feri-lo e deixá-lo vivo para ser interrogado pela polícia, não naquele espaço exíguo, sendo o assassino muito maior do que ela, considerando tantas coisas que poderiam dar errado.
Com as luzes apagadas, os limpadores do pára-brisa desligados, Edgler Vess senta-se no carro morto à beira da estrada. Pensando.
Há vários caminhos que pode seguir dali para a frente. A vida é sempre um bufê cheio de iguarias, um vasto bufê com infinitas opções de sensações e experiências para emocionar o coração — mas nunca tanto quanto agora. Ele deseja explorar a oportunidade ao máximo, extrair dela toda a excitação em potencial, as mais pungentes sensações; por isso, não deveria agir de maneira precipitada.
A sorte lhe proporcionara um vislumbre da mulher pelo espelho retrovisor: veloz como um cervo pelo asfalto, hesitando diante da porta aberta do trailer, para depois subir, entrar e sumir de sua vista.
Devia ser a mulher do Honda. Quando ela o ultrapassara antes, Vess olhara pelo pára-brisa do carro e vira a suéter vermelha.
No acidente, ela podia ter sofrido uma pancada violenta na cabeça.
Agora talvez esteja atordoada, confusa, assustada. Isso explicaria por que não o procurou diretamente para pedir ajuda, uma carona até o posto de gasolina mais próximo. Se seus pensamentos estivessem mesmo confusos, a decisão irracional de se tornar uma passageira clandestina no trailer talvez lhe parecesse perfeita.
Só que ela não dava a impressão de estar com uma lesão na cabeça, nem nenhuma outra lesão. Não cambaleara, não tropeçara ao atravessar a estrada, mostrara-se rápida e firme. Aquela distância e pelo espelho retrovisor, Vess não seria capaz de avistar sangue, mesmo que ela estivesse sangrando, mas sabe, intuitivamente, que não havia sangue.
Quanto mais ele analisa a situação, mais lhe parece que o acidente foi encenado.
Mas por quê?
Se o motivo fosse assalto, a mulher o teria abordado no momento em que ele saltara para a estrada.
Além do mais, ele não está guiando um daqueles requintados iates terrestres de trezentos mil dólares, que por serem tão ostentosos apregoam o conteúdo aos ladrões. Seu veículo tem dezessete anos de uso; embora esteja bem conservado, vale muito menos de cinqüenta mil dólares. Não faz sentido arrebentar um Honda relativamente novo com o propósito de saquear um veículo antigo sem maiores atrativos.
Ele deixou as chaves na ignição, o motor ligado. Ela já poderia ter partido no trailer, se fosse essa sua intenção.
E não é provável que uma mulher sozinha, numa estrada deserta à noite, esteja planejando um assalto. Tal comportamento não se ajusta a nenhum perfil criminoso.
Ele está aturdido.
E muito.
Geralmente, a vida simples de Mr. Vess não é afetada pelo mistério. Há coisas que podem ser mortas e coisas que não podem. Algumas coisas são mais difíceis de matar do que outras, e algumas são mais divertidas de matar do que outras. Algumas gritam, algumas choram, algumas fazem as duas coisas, algumas apenas tremem em silêncio e esperam pelo fim como se tivessem passado a vida inteira na expectativa daquela dor horrível. Assim os dias passam, simples e agradáveis, um rio de sensações puras em que raramente surgem enigmas.
Mas aquela mulher de suéter vermelha é um enigma, sem dúvida, mais misteriosa e intrigante do que qualquer outra pessoa que Mr. Vess já conheceu. É difícil imaginar que experiências terá com ela, e ele fica excitado com a expectativa da novidade.
Sai do Honda e fecha a porta.
Fica parado ali por um momento, contemplando o bosque, sob a chuva fria, esperando parecer inocente, se a mulher o estiver observando do interior do trailer. Talvez ele esteja especulando sobre o que aconteceu com a motorista do Honda. Talvez seja um bom cidadão, preocupado com ela e considerando a possibilidade de procurá-la no bosque.
Vários raios perseguem-se pelo céu, brancos e irregulares como esqueletos em fuga. A trovoada que se segue é tão poderosa que sacode os ossos de Mr. Vess, uma vibração que ele acha bastante agradável.
Indiferentes à tempestade, vários alces saem de repente do bosque, do meio das árvores, avançam pelas samambaias perto da estrada. Movem-se com uma graça imponente, num silêncio etéreo além do eco evanescente da trovoada, os olhos brilhando na claridade dos faróis. Parecem quase aparições, em vez de animais reais.
Dois, cinco, sete e ainda mais aparecem. Alguns param, como se estivessem posando, e outros se deslocam mais um pouco, mas também param em seguida, até serem doze ou mais, imóveis, todos olhando para Mr. Vess.
Aqueles animais possuem uma beleza de outro mundo, e matá-los proporcionaria uma enorme satisfação. Se ele estivesse com uma de suas armas na mão, atiraria em tantos quanto pudesse, antes que corressem para longe de seu alcance.
Quando pequeno, ele começara a trabalhar com animais. Na verdade, começara com insetos, mas logo passara para tartarugas e lagartos, depois gatos e animais maiores. Na adolescência, assim que tirou a carteira de motorista, circulava por estradas secundárias em algumas noites e de madrugada, atirando em veados, quando encontrava algum, cães perdidos, vacas em campos e cavalos em currais, quando tinha certeza de que poderia escapar impune.
Sente-se inebriado de nostalgia ao pensar em matar os alces. A visão do sangue intensificaria a vermelhidão do seu, faria suas artérias cantarem.
Embora sejam em geral retraídos e assustadiços, os alces continuam a fitá-lo, destemidos. Não parecem alarmados, não se mostram nem um pouco ariscos ou prestes a fugir. A maneira direta como o fitam é estranha e, o que não é normal, ele se sente desconfortável.
Seja como for, a mulher de suéter vermelha o aguarda, e é muito mais interessante do que os alces. Ele é um adulto agora, não mais um menino, e sua busca por experiências intensas não pode ser satisfatoriamente conduzida pelos desvios do passado. Edgler Vess há muito pôs de lado as infantilidades.
Ele volta para o trailer.
Na porta, constata que a mulher não se encontra na poltrona do motorista nem na do passageiro.
Sentando-se ao volante, ele olha para trás, mas não vê nenhum sinal dela nas áreas de estar e jantar. O corredor curto e escuro na extremidade do veículo também parece vazio.
Vess vira-se para a frente, mas continua de olho no espelho retrovisor. Levanta a tampa do consolo entre os bancos. Sua pistola continua ali, onde a deixou, sem o silenciador.
Com a pistola na mão, vira-se na cadeira, levanta-se, avança pelo trailer até a cozinha e a área de jantar. O facão encontrado no posto de gasolina continua no balcão, como antes. Ele abre o armário à esquerda do fogão e descobre que a Mossberg calibre 12 ainda está presa nos suportes, onde a guardou depois de matar os dois empregados do posto.
Não sabe se a mulher tem alguma arma. Da distância em que a viu, não foi capaz de discernir se estava com as mãos vazias ou, igualmente importante, se era bonita o bastante para que matá-la fosse uma diversão.
Ele avança pelo corredor.
O som da chuva. O motor funcionando.
Abre a porta do banheiro, num gesto rápido e ruidoso, consciente de que é impossível realizar movimentos furtivos dentro daquela lata reverberante sobre rodas. O banheiro apertado continua como antes, sem nenhuma passageira clandestina no vaso nem no boxe do chuveiro.
Depois o guarda-roupa pouco profundo, com sua porta corrediça. Mas ela também não está ali.
O único lugar que falta revistar é o quarto.
Vess pára diante da porta fechada, positivamente encantado ao pensar na mulher encolhida ali, sem saber daqueles com quem partilha seu esconderijo.
Não há réstia de luz visível ao longo das frestas nem do umbral, portanto não há dúvida de que ela entrou no escuro. É evidente que ainda não se sentou na cama, não descobriu a bela adormecida.
Talvez tenha se esgueirado cautelosamente pelo pequeno quarto, tateando às cegas, até encontrar a porta sanfonada do closet. Se Vess abrir a porta do quarto, talvez ela puxe no mesmo instante a porta de vinil, numa tentativa rápida e silenciosa de se esconder ali, apenas para sentir um corpo frio pendurado lá, em vez de camisas.
Mr. Vess acha graça.
E quase irresistível a tentação de abrir a porta, vê-la esbarrar no cadáver no closet, recuar para a cama, depois saltar para longe da moça morta, gritando primeiro quando vir o rapaz de rosto costurado, em seguida a garota algemada e por fim o próprio Vess, como um cômico fliperama de terror.
Depois desse espetáculo, no entanto, terão de resolver o problema imediatamente. Descobrirá logo quem ela é e o que pensa estar fazendo ali.
Mr. Vess reflete que não deseja que essa rara e misteriosa experiência termine. Acha mais agradável prolongar o suspense e remoer o enigma por algum tempo.
Já começava a se sentir cansado de suas recentes atividades, mas agora fica energizado por aqueles acontecimentos inesperados.
Claro que há riscos em agir dessa maneira. Mas é impossível viver com intensidade e evitar os riscos. Afinal, o risco está no cerne de uma existência intensa.
Ele recua da porta do quarto, sem fazer barulho.
Depois ruidoso, entra no banheiro, urina e puxa a descarga, e para que a mulher pense que foi ao fundo do trailer para atender ao chamado da natureza, não à sua procura. Se ela continuar a acreditar que sua presença é ignorada, vai prosseguir no curso da ação que a fez entrar ali, e será interessante observar o que ela pretende.
Vess vai para a frente do trailer, pára na cozinha e se serve de café quente da garrafa térmica em cima do balcão. Também acende as luzes, para poder ver o interior pelo espelho retrovisor.
Mais uma vez sentado ao volante, ele toma um gole de café. Quente, puro e amargo, como ele gosta. Ajeita a xícara num suporte preso ao painel.
Põe a pistola no consolo entre os bancos, com a trava de segurança solta, a coronha para cima. Poderá pegá-la em um segundo, virar-se no banco, atirar na mulher antes que ela consiga se aproximar e ainda manter o controle do trailer.
Mas ele não crê que a mulher tente atacá-lo, pelo menos não tão rápido. Se sua intenção fosse atacá-lo, ela já o teria feito.
Estranho.
— Por quê? E o que acontecerá agora? — especula ele, em voz alta, desfrutando o drama de sua situação peculiar. — E agora? O que ocorrerá em seguida? O que será? Surpresa, surpresa.
Ele toma mais café. O aroma o faz lembrar da textura de torrada queimada.
Lá fora, os alces desapareceram.
Uma noite de mistérios.
O vento crescente fustiga as samambaias. Como prova da violência, flores vermelhas e molhadas de rododentros voam pela noite.
O bosque permanece intocado. O poder do tempo está armazenado naquelas formas maciças, escuras, verticais.
Mr. Vess engrena o trailer e solta o freio de mão. Dá a partida.
Passa pelo Honda avariado, dá uma olhada pelo espelho retrovisor. A porta do quarto permanece fechada. A mulher continua escondida.
Com o veículo outra vez em movimento, talvez a passageira clandestina se arrisque a acender uma luz e aproveite a oportunidade para conhecer seus colegas de quarto. .
Mr. Vess sorri.
De todas as expedições que já realizou, esta é a mais interessante e emocionante. E ainda não acabou.
Chyna estava sentada no chão, no escuro. As costas contra a parede. O revólver ao seu lado.
Permanecia incólume e viva.
— Chyna Shepherd, incólume e viva — sussurrou para si mesma, o que era ao mesmo tempo uma prece e um gracejo.
Em toda a sua infância, rezara com freqüência por essa dupla bênção — sua virtude e sua vida —, e as orações costumavam ser tão desconexas e incoerentes quanto frenéticas. Acabara se preocupando com a possibilidade de Deus estar cansado de suas súplicas desesperadas por libertação, de sua incapacidade de cuidar de si mesma e permanecer longe de encrencas, e por isso Ele podia ter decidido que ela já consumira toda a sua quota de misericórdia divina. Afinal, Deus era muito ocupado, comandando todo o universo, velando por incontáveis bêbados e tolos, com o diabo espalhando a maldade por toda parte, vulcões entrando em erupção, marinheiros perdidos em tempestades, pardais caindo do céu. Aos dez ou onze anos, levando em consideração a agenda lotada de Deus, Chyna condensara suas súplicas divagantes, em momentos de terror, ao seguinte: "Deus, aqui é Chyna Shepherd, estou em..." — preencher o espaço em branco com o lugar do momento — "e lhe suplico, por favor, por favor, por favor, deixe-me sair disso incólume e viva". Logo em seguida, compreendendo que Deus, sendo Deus, saberia com exatidão onde ela se encontrava, reduzira a súplica ainda mais: "Deus, aqui é Chyna Shepherd. Por favor, deixe-me sair disso incólume e viva'. Ao final, certa de que Deus já estava demasiadamente familiarizado com suas pretensões aterrorizadas de ocupar Seu tempo e atenção, ela encurtara a oração ao modo de uma mensagem telegráfica: "Chyna Shepherd, incólume e viva". Em crises — debaixo de uma cama, escondida por trás de roupas em armários, em sótãos com teias de aranha e cheirando a poeira ou, como ocorrera uma vez, comprimida contra o chão num atoleiro de merda de rato, no espaço diminuto sob uma velha casa mofada —, ela sussurrava essas cinco palavras, ou as entoava em silêncio, muitas e muitas vezes, incansável, Chyna-Shepherd-incólume-e-viva, recitava-as incessantemente não por medo de que Deus estivesse distraído com outras coisas e deixasse de ouvi-la, mas para lembrar a si mesma de que Ele continuava por lá, recebera sua mensagem e tomaria conta dela, se fosse paciente. E quando cada uma das crises passava, quando cada fluxo sinistro de terror minguava, quando seu coração disparado voltava a bater no ritmo normal, ela repetia as cinco palavras mais uma vez, só que numa inflexão diferente da que fora usada antes, não como uma súplica por libertação, mas como um relatório obediente, Chyna-Shepherd-incólume-e-viva, do mesmo modo que um marinheiro em tempo de guerra comunicaria a seu comandante que o navio sobrevivera a um violento ataque de aviões inimigos: "Todos presentes e vivos, senhor". Ela estava presente, e viva, e dava conhecimento a Deus de sua gratidão com as mesmas cinco palavras, calculando que Ele perceberia a diferença em sua inflexão e a compreenderia. Aquilo tornara-se um hábito para a jovem Chyna, e às vezes ela até acompanhava o relatório com uma continência, o que parecia certo, pois achava que Deus, sendo Deus, devia ter senso de humor.
— Chyna Shepherd, incólume e viva.
Agora, no quarto do trailer, dizer isso era ao mesmo tempo um relatório sobre sua sobrevivência e uma oração fervorosa para ser poupada de qualquer brutalidade que poderia ocorrer em seguida.
— Chyna Shepherd, incólume e viva.
Quando menina, ela detestava seu nome — exceto quando tinha de rezar para sobreviver. Era frívolo e estúpido grafar errado uma palavra existente, e não sabia se defender quando as outras crianças zombavam. Considerando que a mãe chamava-se Arme, um nome tão simples, a escolha de Chyna parecia não apenas frívola, mas insensata e até perversa. Durante a maior parte da gravidez, Anne vivera numa comuna de ecologistas radicais — uma célula do famigerado Exército da Terra, que acreditava que qualquer grau de violência era justificável em defesa da natureza. Punham pedaços de ferro em árvores na esperança de que lenhadores perdessem as mãos ao usarem a motosserra. Haviam incendiado dois frigoríficos com os desafortunados vigias noturnos presos lá dentro, sabotado os equipamentos de construção de um novo conjunto imobiliário que invadia um bosque, matado um cientista em Stanford porque desaprovavam o uso de animais em suas experiências de laboratório. Influenciada por esses amigos, Arme Shepherd considerara muitos nomes para a filha: Hyacinth, Meadovv, Ocean, Sky, Snow, Rain, Leaf, Butterfly... Mas na ocasião do parto ela já havia se afastado do pessoal do Exército da Terra, e escolhera o nome de Chyna, numa homenagem à China, explicando mais tarde:
— Meu bem, percebi de repente que um dia a China será a única sociedade no mundo, e me pareceu um lindo nome.
Ela nunca fora capaz de se lembrar por que mudara 'i' para 'y', embora a essa altura já fosse sócia de um laboratório de metanfetamina, embalando a droga em doses acessíveis de cinco dólares e provando o produto com freqüência suficiente para ficar com alguns dias em branco na memória. Só quando rezava por libertação é que a pequena Chyna 'gostava' de seu nome, porque achava que Deus se lembraria dela com mais facilidade por causa disso, em vez de confundi-la com as milhões de Marys, Carolines, Lindas, Heathers, Tracys e Janes.
Agora seu nome já não a consternava nem agradava. Era apenas um nome como qualquer outro.
Aprendera que quem ela era — a pessoa verdadeira — nada tinha a ver com seu nome, e pouco a ver com a vida que levara em companhia da mãe durante dezesseis anos. Não podia ser culpada pelas terríveis explosões de ódio e desejo que vira, pelas obscenidades ouvidas, pelos crimes testemunhados ou pelas coisas que alguns dos amigos de sua mãe queriam dela. Não era definida por um nome ou por uma experiência vergonhosa; em vez disso, era cheia de sonhos e esperanças, de aspirações, de amor-próprio e perseverança. Não era barro nas mãos dos outros; era rocha, e com suas próprias mãos determinadas podia esculpir a pessoa que queria ser.
Não havia alcançado essa compreensão até um ano atrás, quando tinha vinte e cinco anos. A sabedoria não lhe aparecera num clarão ofuscante, mas sim pouco a pouco, da maneira como a terra nua se cobre gradativamente de búgula, até que um dia, por milagre, a terra marrom fica coberta por toda parte de folhas verdes e pequenas flores azuis. O conhecimento válido sempre parecia ser duramente adquirido durante o processo de conquista — mas, chegado o fim, a aquisição parecia fácil.
O velho trailer se arrastava pela noite, rangendo como uma porta fechada por muito tempo, tiquetaqueando como um relógio enferrujado, corroído demais para registrar cada segundo fielmente, a caminho do amanhecer.
Uma loucura. Era uma loucura o que acontecia.
Mas não havia outro lugar para ir.
Toda a sua vida a trouxera até ali. A coragem destemida não se restringia ao campo de batalha nem aos homens.
Ela estava molhada, com frio e assustada — e estranhamente, pela primeira vez na vida, sentia-se cm paz consigo mesma.
— Ariel — sussurrou Chyna, uma garota na escuridão falando em tom tranqüilizador para outra.
Vess sai do bosque de sequóias em direção a um amanhecer chuvoso, a princípio cinza-ferro e depois um pouco mais claro, entre campinas litorâneas com as mesmas tonalidades melancólicas de metal que o céu; de volta à Rodovia 101, indo para os bosques de novo, mas desta vez de pinheiros e espruces, passando do Condado de Humboldt para o Condado Del Norte, uma região ainda mais isolada, até que deixa a 101 e pega uma estrada que leva para norte-nordeste.
Durante a primeira parte do percurso ele olha com freqüência pelo espelho retrovisor, mas a porta do quarto permanece fechada. A mulher parece à vontade com os cadáveres, ou talvez ainda não os tenha visto. Em seu refúgio, a janela está fechada com uma placa de compensado, e a luz do amanhecer não penetra.
Vess é um ótimo motorista e consegue alcançar uma velocidade excelente, mesmo com o tempo ruim. Fazemos melhor as coisas que gostamos de fazer, e é por isso que Mr. Vess é tão bem-sucedido em matar e em combinar esse entusiasmo com o amor por dirigir, em vez de se restringir a vítimas próximas de sua casa.
Na estrada, com paisagens sempre diferentes, Edgler Vess é o receptor de um fluxo incessante de novas sensações visuais. E para alguém com sentidos tão refinados e capacidade de usá-los de maneira tão integral, uma linda vista pode significar também um som harmonioso. Um cheiro captado pela janela aberta pode ser uma experiência não apenas olfativa, mas também tátil, a doce fragrância do lilás semelhante à respiração quente de uma mulher contra a sua pele. Refestelado no banco do motorista do trailer, ele viaja por um rico mar de sensações que o envolvem, assim como a água corre incessantemente ao longo do casco de um submarino submerso.
Ele entra no Oregon. As montanhas o atraem para sua fortaleza.
As árvores cada vez mais densas nas encostas íngremes são mais cinzentas do que verdes em meio à chuva persistente, e a visão delas é como morder um pedaço de gelo, duro entre os dentes, um ligeiro mas agradável gosto metálico, uma frieza intensa contra os lábios.
Ele quase já não olha pelo espelho retrovisor. A mulher é um mistério, e não se resolvem mistérios desse tipo pelo simples desejo de esclarecê-los. Ao final, ela revelará tudo, e a intensidade da experiência dependerá de seu propósito e de seus segredos.
A espera é deliciosa.
Nas últimas horas da viagem, Vess deixa o rádio desligado, mas não por recear que a música possa encobrir os sons da mulher avançando pelo trailer. Na verdade, ele quase nunca escuta o rádio enquanto dirige. Tem na memória uma vasta coleção da música que mais aprecia: os gritos e arquejos, as preces sussurradas, os soluços pulsantes de clamor por misericórdia e os estímulos eróticos do desespero final.
Ao deixar a rodovia estadual e entrar na estrada do condado, ele se lembra especificamente de Sarah Templeton no boxe do chuveiro, seus gritos e arquejos frenéticos abafados pela esponja verde de lavar pratos que metera em sua boca e pelas duas tiras de fita adesiva fechando seus lábios. Nada no rádio, de Elton John a Garth Brooks, de Pearl Jam a Sheryl Crow — ou de Mozart a Beethoven, diga-se de passagem — pode se comparar a esse divertimento interior.
Ele passa da estrada de duas faixas do condado para seu caminho particular. A entrada é protegida por um portão e ladeada por pinheiros e moitas espinhentas.
O portão é feito de tubos de aço e arame farpado entre postes de aço inoxidável fixos em bases de concreto. E equipado com um motor elétrico que pode ser acionado a distância. Quando Mr. Vess aperta um botão no controle remoto que apanha entre os bancos, a cancela se desloca para dentro, à esquerda, com uma imponência que o agrada.
Depois de entrar em sua propriedade, ele pára outra vez, abaixa a janela, aponta o controle remoto para trás e aperta o botão. Observa o portão se fechar pelo espelho lateral.
O caminho é quase tão longo quanto o da casa dos Templeton, através dos vinhedos, pois sua propriedade abrange vinte e dois hectares, dando para uma reserva florestal do governo, que se estende por muitos quilômetros. Mas ele não é tão próspero quanto os Templeton; a terra aqui é muito mais barata do que no vale de Napa.
Apesar da ausência de asfalto, há pouca lama e nenhum perigo real de o trailer atolar. O solo é firme; o caminho foi rebaixado até a camada inferior de xisto. A pista é um pouco esburacada, mas afinal de contas, não estamos em Nova York.
Vess sobe por um suave aclive, margeado por pinheiros e espruces, com alguns abetos esparsos, mas depois as árvores recuam um pouco, e ele chega ao topo sem vegetação da colina. O caminho desce numa curva graciosa para um pequeno vale, com a casa na extremidade e as colinas se elevando por trás, sob a chuva e o nevoeiro da manhã.
Seu coração se envaidece diante da visão de seu lar. É lá que sua Ariel aguarda pacientemente.
A casa de dois andares é pequena, mas sólida, construída com troncos unidos por cimento. Os velhos troncos estão quase pretos devido a várias camadas de resina, e o tempo escureceu o cimento para um tom marrom de tabaco, exceto pelas manchas fulvas e cinzentas de reparos recentes.
A casa foi construída no final da década de 20 pelo proprietário de uma serraria familiar, muito antes de os pequenos empresários serem afastados desse negócio e antes de o governo declarar que as terras públicas ao redor eram proibidas aos lenhadores. A eletricidade chegou ali nos anos 40.
Edgler Vess possui a casa há seis anos. Ao comprá-la, mudou a fiação elétrica, melhorou os encanamentos, ampliou o banheiro do segundo andar. E, completamente sozinho, como não podia deixar de ser, executou uma ampla e secreta reforma no porão.
Para alguns, a propriedade pode parecer isolada, uma inconveniência por ser distante de lojas 7-Eleven ou de cinemas. Mas para Mr. Vess, cujos prazeres nunca seriam compreendidos pela maioria dos vizinhos, o relativo isolamento é a exigência fundamental ao procurar uma propriedade para comprar.
Numa tarde ou princípio de noite de verão, no entanto, sentado numa cadeira de balanço na varanda, contemplando o pátio e as flores silvestres nos campos abertos pelo homem da serraria e seus filhos, ou admirando a incrível quantidade de estrelas, até mesmo o mais pacífico e urbano dos homens concordaria que o isolamento tem seus atrativos.
Quando o tempo está bom, Mr. Vess gosta de levar seu jantar e duas latas de cerveja para a varanda. Quando o silêncio da montanha torna-se tedioso, ele se permite ouvir as vozes dos que estão enterrados no campo: suas súplicas e lamentações, a música que prefere a qualquer uma transmitida pelo rádio.
Além da casa, há um pequeno galpão, não porque o proprietário original cultivasse a terra que limpara e precisasse de um celeiro, mas porque criava cavalos. Esse segundo prédio é feito da tradicional estrutura de madeira sobre uma base de concreto e uma parede de pedras; o vento, a chuva e o sol há muito criaram uma patina prateada sobre as tábuas duráveis de cedro, e Vess acha isso adorável.
Já que ele não tem cavalos, usa o galpão como garagem. Agora, porém, ele pára ao lado da casa, em vez de seguir até lá. A mulher está no trailer, e logo terá de lidar com ela. Prefere estacionar aqui, onde poderá observá-la da casa e esperar pelos acontecimentos.
Ele olha pelo espelho retrovisor.
Ainda nenhum sinal dela.
Vess desliga o motor, mas não os limpadores do pára-brisa, e espera a chegada de seus guardas. A manhã de final de março é animada pela chuva e pelo vento, mas nada parece se mover por conta própria.
Eles foram treinados a não atacar a esmo veículos que se aproximam e até a dar tempo a intrusos que aparecem a pé, a melhor maneira de atraí-los para uma área da qual a fuga se torna impossível. Aqueles guardas sabem que serem furtivos é tão importante quanto a fúria selvagem, que os ataques mais bem-sucedidos são precedidos de uma quietude calculada, a fim de iludir a presa com uma falsa sensação de confiança.
Por fim, a primeira cabeça preta aparece, lisa como uma bala, a não ser pelas orelhas espetadas, quase encostada no chão, nos fundos da casa. O cachorro hesita em revelar mais de si mesmo, inspecionando a cena para ter certeza de que compreende o que está acontecendo.
— Bom rapaz — sussurra Vess.
No canto mais próximo do galpão, entre a parede de cedro e o tronco de um bordo desfolhado pelo inverno, outro cachorro aparece. É pouco mais que a sombra de uma sombra na chuva.
Vess não teria percebido essas sentinelas se não soubesse procurá-las. O autocontrole dos animais é extraordinário, um testemunho de sua competência como treinador.
Mais dois cães espreitam de algum lugar, talvez de trás do trailer ou rastejando de barriga entre as moitas, onde não consegue vê-los. Todos são dobermans de cinco e seis anos, no vigor da vida.
Vess não lhes aparou as orelhas nem lhes cortou o rabo, como se costuma fazer com os dobermans, pois tem afinidade com os predadores da natureza. É capaz de perceber o mundo a um grau que acredita ser o mesmo dos animais — a natureza elementar de sua visão, suas necessidades, a importância das sensações puras. Há uma semelhança.
O cachorro dos fundos da casa se adianta para ficar à mostra, enquanto o que está junto ao galpão emerge de baixo do bordo de galhos negros. Um terceiro doberman levanta-se de trás do toco maciço e meio petrificado de um cedro caído há muito tempo ao lado da casa, em torno do qual cresceu uma moita de azevinho.
O trailer lhes é familiar. A visão dos cães, embora não seja sua característica mais forte, provavelmente é suficiente para permitir que o reconheçam pelo pára-brisa. Com um olfato vinte mil vezes mais apurado que o do ser humano médio, eles sem dúvida captaram seu cheiro, mesmo em meio à chuva e mesmo estando ele dentro do veículo. Mas não abanam o rabo nem demonstram sua satisfação de maneira nenhuma, já que continuam em serviço.
O quarto cão permanece escondido, mas os outros três adiantam-se cautelosamente através da chuva e da neblina. Mantêm as cabeças erguidas, as orelhas esticadas.
Em seu disciplinado silêncio e indiferença à tempestade, fazem-no lembrar da manada de alces no bosque de sequóias durante a noite, por sua concentração sobrenatural. A grande diferença é que essas criaturas, se confrontadas por qualquer outra pessoa que não seu amado dono, não reagiriam com a timidez do alce, mas dilacerariam a garganta do infeliz.
Embora não acreditasse ser possível, Chyna acabou sendo induzida ao sono pelo zumbido dos motores e o movimento do trailer. Ela sonhou com casas estranhas, em que a geometria dos cômodos era bizarra e sempre mudava; alguma coisa ansiosa e faminta vivia entre as paredes, e à noite essa coisa falava com Chyna através das grades de ventilação e das tomadas elétricas, sussurrando suas necessidades.
O freio a despertou. No mesmo instante compreendeu que o trailer parará uma vez antes, depois voltara a andar; continuara a cochilar durante a primeira parada, com o sono perturbado, mas ainda não desperta de todo. Desta vez, embora estivesse em movimento outra vez e o assassino obviamente permanecesse ao volante, Chyna pegou o revólver no chão ao seu lado e levantou-se de costas para a parede, tensa e alerta.
Pela inclinação do chão e o barulho do motor, compreendeu que subiam uma encosta. Logo chegaram ao topo, e passaram a descer. Logo pararam de novo, e o motor foi desligado.
O único som era o da chuva.
Ela esperava ouvir passos.
Embora soubesse que estava desperta, tinha a impressão de que vivia um sonho, rígida no escuro do quarto, com a chuva parecendo sussurrar pelas paredes.
Mr. Vess demora a vestir a capa e pôr a Heckler & Koch P7 no bolso. Retira a escopeta Mossberg do armário na kitchenette, para o caso de a mulher revistar o trailer depois de sua saída. Apaga as luzes.
Quando desce do trailer, indiferente à chuva fria, os três cães enormes se aproximam, e depois o quarto surge de trás do veículo. Todos tremem de excitação a sua volta, mas ainda mantêm o controle, não querendo ser julgados negligentes no cumprimento do dever.
Pouco antes de partir em expedição, Mr. Vess pusera os dobermans em estado de ataque ao dizer o nome Nietzcbe. Continuarão prontos para matar qualquer pessoa que entre na propriedade até que ele diga Seuss, ao que se tornarão tão afáveis quanto qualquer vira-lata sociável — exceto, é claro, se alguém insensatamente ameaçar seu dono.
Depois de apoiar a escopeta na lateral do trailer, ele estende as mãos para os cães. Eles agrupam-se ansiosos ao seu redor, farejam seus dedos. Fungando, ofegando, lambendo, lambendo, não há a menor dúvida de que sentiram muito a sua falta.
Mr. Vess agacha-se, ficando no mesmo nível dos animais, e a alegria deles fica incontrolável. Eles mexem as orelhas e tremores de puro prazer percorrem os flancos esguios. Os cães ganem baixinho de felicidade, todos se comprimindo ciumentamente para alcançá-lo, querendo ser tocados, afagados, cocados.
Vivem num enorme canil ao lado do galpão, podem entrar e sair à vontade. Há aquecimento elétrico durante a estação mais fria para lhes garantir conforto e boa saúde.
— Oi, Muenster. Como tem passado, Liederkranz? Tilsiter, você parece um filho da puta escroto. Ei, Limburger, você ainda é o meu bom menino?
Cada cachorro, à menção de seu nome, sente tanta alegria que seria capaz de rolar de costas, de barriga para cima, sacudindo as patas no ar e desfazendo-se em sorrisos — se não continuasse de serviço. Parte da diversão de Vess é observar a luta entre treinamento e natureza em cada animal, uma doce agonia que faz dois deles urinarem devido à frustração nervosa.
Mr. Vess instalou um mecanismo elétrico no canil que durante sua ausência serve porções controladas de ração para cada doberman. O relógio do sistema tem uma bateria de apoio para continuar a calcular o tempo das refeições mesmo durante uma falha de curta duração no fornecimento de energia elétrica. No caso de falta de energia mais prolongada, os cachorros sempre podem recorrer à caça para seu sustento; as campinas ao redor estão cheias de ratos do campo, coelhos e esquilos, e os dobermans são predadores implacáveis. O bebedouro comunitário é abastecido com um fluxo de água permanente, mas no caso de uma interrupção no fornecimento eles podem encontrar o caminho para uma fonte próxima, dentro da propriedade.
A maioria das expedições de Mr. Vess é de finais de semana prolongados para três dias (muito raramente chegam a cinco), e os cães dispõem de um suprimento de comida para dez dias, sem contar os coelhos, ratos e esquilos. Constituem um sistema de segurança eficiente e confiável: nunca sofrem curto-circuito, nunca têm falha no detector de movimentos, nunca têm seus contatos magnéticos corroídos — e nunca dão alarme falso.
Ah, sim, e como aqueles cães o amam, como demonstram uma lealdade incondicional, algo que chips de memória, fios, câmeras e sensores de calor infravermelhos jamais poderiam ter. Farejam as manchas de sangue no jeans e no blusão, enfiam a cabeça por dentro da capa aberta, as orelhas estendidas para trás, farejando com ansiedade, captando não apenas o cheiro de sangue, mas também o fedor remanescente do terror que suas vítimas exalaram quando nas mãos dele, sua dor, seu desamparo, o sexo que fizera com a mulher chamada Laura. Essa mistura de odores pungentes não apenas excita os cachorros, mas também aumenta o respeito que sentem por Vess. Foram ensinados a matar não apenas como autodefesa, não apenas por comida; com um grau de firme autocontrole, aprenderam a matar também pelo puro prazer, para agradar ao dono. E têm consciência de que o dono é capaz de igualá-los em selvageria. Só que, ao contrário deles, o dono nunca teve de ser ensinado. Sua alta consideração por Edgler Vess torna-se ainda maior, e os cães gemem, tremem e reviram os olhos sentimentais numa idolatria profunda.
Mr. Vess se levanta. Pega a escopeta e bate a porta do trailer.
Os cães pulam a seu lado, empurrando-se para ficar mais perto dele, esquadrinhando alertas o dia amortalhado pela chuva, à procura de alguma ameaça contra o dono. Baixinho, para que a mulher lá dentro não possa ouvir a palavra, ele diz: "Seuss".
Os cães ficam imóveis, fitando-o, a cabeça inclinada.
— Seuss — repete ele.
Os quatro dobermans não estão mais em condição de ataque, não vão mais dilacerar automaticamente qualquer pessoa que entrar na propriedade. Estremecem, como se estivessem se livrando da tensão, depois vagueiam ao redor, bastante aturdidos, farejam a relva e os pneus dianteiros do trailer.
São como assassinos da Máfia que, depois de suas próprias execuções, recuperam uma autopercepção atordoada ao reencarnar, apenas para descobrir que são contadores nessa nova vida.
Se algum visitante tentasse atacar seu dono, é claro que se apressariam em defendê-lo, quer ele tenha tempo ou não de gritar a palavra Nietzche. O resultado não seria nada agradável.
São treinados para primeiro rasgar a garganta da vítima. Depois morderão o rosto para proporcionar o máximo efeito de terror e dor — os olhos, o nariz, os lábios. Em seguida a virilha. A barriga. Não matam de imediato, afastando-se em seguida; vão se ocupar durante algum tempo com sua presa depois que a derrubarem, até não existir mais a menor dúvida de que realizaram seu trabalho.
Nem mesmo um homem com uma espingarda seria capaz de abater todos antes que pelo menos um dos cães conseguisse cravar os dentes em sua garganta. Tiros não os afugentam, nem mesmo os fazem hesitar. Nada é capaz de assustá-los. Provavelmente, o hipotético homem com a espingarda conseguiria eliminar apenas dois, antes que a dupla restante o dominasse.
— Berço — diz Mr.Vess.
Essa única palavra instrui os cães a irem para o canil, e eles partem em grupo, correndo na direção do galpão. Mesmo assim não latem, pois foram condicionados ao silêncio.
Em circunstâncias normais, Mr.Vess permitiria que os animais ficassem e desfrutassem de sua companhia. Passariam o dia na casa e até se amontoariam, como uma colcha preta e fulva, dormindo com ele a tarde toda. Ele os afagaria e agradaria, pois afinal de contas foram bons cachorros. Merecem sua recompensa.
A mulher de suéter vermelha, no entanto, impede Mr. Vess de lidar com os cachorros da maneira como em geral faria. Se estiverem visíveis, irão inibi-la, e ela poderá permanecer dentro do trailer, com medo de sair.
A mulher tem que ter toda liberdade para agir. Ou pelo menos a ilusão de liberdade.
Mr. Vess está curioso, querendo saber o que ela fará.
Ela deve ter um propósito, alguma motivação para as coisas estranhas que fez até agora. Todos têm um propósito.
O propósito de Mr. Vess é satisfazer todas as suas vontades à medida que surgem, procurar experiências cada vez mais intensas, mergulhar cada vez mais fundo nas sensações.
Independentemente do propósito que a mulher acredita ter, Vess sabe que, no final, seu verdadeiro propósito será servi-lo. Ela é uma gloriosa variedade de sensações poderosas e requintadas em pele humana, embalada apenas para o seu desfrute — como uma barra de chocolate Hershey em seu invólucro prateado e marrom, ou um salame Slim Jim aconchegado em sua embalagem de plástico.
O último dos dobermans em disparada desaparece por trás do galpão, onde fica o canil.
Mr. Vess atravessa a relva encharcada até a velha casa de troncos, sobe os degraus de pedra da varanda. Embora carregue a escopeta Mossberg calibre 12, ele se esforça para parecer descontraído, caso a mulher já tenha saído do quarto no fundo do trailer para observá-lo de uma janela.
A cadeira de balanço foi guardada até a primavera.
Vários caracóis experimentam o ar de final de inverno, deixando trilhas prateadas nas tábuas úmidas, as antenas gelatinosas e semitransparentes, arrastando os cascos espiralados em estranhas buscas. Mr. Vess toma o cuidado de não pisar neles.
Há um mobile pendurado num canto da varanda de telhas de madeira. E formado por vinte e oito conchas, todas pequenas, algumas com lindos interiores rosados; a maioria tem a forma de espiral, e todas são relativamente exóticas.
O mobile não é um bom carrilhão ao vento, porque a maioria das notas é bemol. Saúda-o com um fluxo de retinidos atonais, mas ele sorri porque tem... ora, não um valor sentimental, mas pelo menos um valor nostálgico.
Aquela bela peça de artesanato popular pertencia a uma mulher que morava num subúrbio de Seattle, Washington. Era advogada, cerca de trinta e dois anos, suficientemente bem-sucedida para morar sozinha, numa casa de um bairro de classe alta. Para uma pessoa forte o suficiente para vicejar na combativa profissão legal, aquela mulher tinha um quarto surpreendentemente delicado — infantil, até: uma cama com um dossel rosa de rendas e franjas, uma colcha rosada e tiras engomadas de babados na base da cama; uma enorme coleção de ursos de pelúcia; quadros de chalés ingleses com ipoméias subindo pelas paredes e cercados por canteiros de prímulas; e vários mobiles de conchas.
Mr. Vess fizera coisas excitantes com ela naquele quarto. E depois a levara no trailer para lugares remotos onde poderia fazer outras coisas ainda mais excitantes. Ela perguntara "Por quê?", e ele respondera "Porque é isso o que faço". Era essa toda a verdade e toda a razão de Mr. Vess.
Não lembra mais o nome da advogada, embora recorde-se afetuosamente de muitas coisas a seu respeito. Partes do corpo dela eram tão rosadas, lisas e adoráveis quanto os interiores das conchas penduradas. Ele tem uma vivida imagem mental de suas mãos pequenas, quase tão esguias e delicadas quanto as de uma criança.
Mr. Vess ficara fascinado pelas mãos dela. Encantado. Nunca sentira a vulnerabilidade de alguém com tanta intensidade como no momento em que segurara suas mãos, pequenas e trêmulas, mas fortes. Ah, ele parecia um colegial deslumbrado com aquelas mãos.
Ao pendurar o mobile na varanda, como uma lembrança da advogada, ele acrescentara um item. Pende agora de um cordão verde o fino dedo indicador da mulher, reduzido aos ossos, mas ainda inegavelmente elegante, as três falanges da ponta à articulação da mão, tilintando contra as pequenas conchas, leques e búzios semelhantes às casas dos caracóis.
Tlim-tlim.
Tlim-tlim.
Ele destranca a porta da frente e entra na casa. Fecha a porta, mas sem trancá-la, permitindo que a mulher tenha acesso, se for o que ela quer.
Quem sabe o que ela poderá fazer?
Seu comportamento já é tão espantoso quanto misterioso.
Ela o excita.
Vess vira-se da sala escura da frente para a estreita escada à sua esquerda. Sobe depressa os degraus, de dois em dois, a mão no corrimão de carvalho. Um curto corredor serve a dois quartos e um banheiro. O quarto dele é o da esquerda.
Ali ele larga a Mossberg em cima da cama, depois vai para a janela que dá para o sul, coberta por uma cortina azul, com forro pesado. Não é preciso puxar a cortina para ver o trailer lá embaixo. As duas partes pregueadas não se juntam, e ao aproximar o olho da abertura de três centímetros ele tem uma visão nítida de todo o veículo.
A menos que tenha saído do trailer logo depois dele, o que é bastante duvidoso, a mulher continua lá dentro. Mr. Vess pode ver pelo pára-brisa os bancos do motorista e do passageiro, e ela não está ali.
Ele tira a pistola do bolso e a põe sobre a cômoda. Também tira a capa e a joga em cima da colcha de chenille na cama bem arrumada.
Quando torna a olhar pela janela, ainda não há nenhum sinal da mulher misteriosa.
Ele segue pelo corredor até o banheiro. Ladrilhos brancos, tinta branca, banheira branca, pia branca, vaso sanitário branco, torneiras de latão polidas, com botões brancos de cerâmica. Tudo brilha. Não há uma única mancha no espelho.
Mr. Vess aprecia um banheiro claro e limpo. Por algum tempo, vidas atrás, morou com a avó em Chicago, e ela era incapaz de manter um banheiro limpo o bastante para atender aos padrões do neto. Por fim, irritado além do suportável, ele matou a velha escrota. Tinha onze anos quando a esfaqueara.
Agora ele se inclina por trás da cortina do chuveiro e abre a torneira de água fria. Como não vai tomar banho, não há sentido em desperdiçar água quente.
Ajusta rapidamente o chuveiro para que o jato seja o mais forte possível. A água cai com força na banheira de fibra de vidro e o ruído toma conta do banheiro. Ele sabe pela experiência que o som se propaga por toda a pequena casa; mesmo com a chuva no telhado, é muito mais alto que o som do chuveiro no quarto de Sarah Templeton, e será ouvido lá embaixo.
Numa prateleira na parede, por cima do vaso, há um rádio-relógio. Ele o liga e ajusta o volume.
Está sintonizado em uma emissora de Portland especializada em transmitir notícias vinte e quatro horas por dia. Quando usa o vaso ou toma banho, Mr. Vess gosta de escutar as notícias, não porque tenha algum interesse pelos últimos acontecimentos políticos ou culturais, mas porque o noticiário hoje em dia é quase todo sobre pessoas mutilando e matando outras — guerra, terrorismo, estupro, agressão, assassinato. E quando as pessoas não conseguem matar em quantidade suficiente para manter os repórteres ocupados, a natureza sempre salva o dia com um tornado, um furacão, um grande terremoto ou o alastramento de uma bactéria que come carne.
Às vezes, ao ouvir o noticiário e deixar que vários relatos desencadeiem memórias afetuosas de suas próprias façanhas homicidas, ele conclui que também é uma força da natureza: um furacão, uma tempestade de muitos raios, um asteróide cortando o vácuo para se chocar com o planeta, a concentração de toda a ferocidade humana num único corpo. Uma força elementar. O pensamento o agrada.
Agora, no entanto, o noticiário não criará o clima apropriado. Ele se apressa em girar o botão até encontrar uma emissora de música. Tocando Take the A train, de Duke Ellington.
Perfeito.
O som da big band faz aflorar em sua mente uma imagem de luz se refletindo em cristal lapidado e borbulhas luminosas subindo numa taça de champanhe, lembra-o do cheiro de limões recém-cortados. Pode sentir as notas no ar, algumas tremeluzindo e estourando como bolhas, outras ricocheteando nele como centenas de pequenas bolas de borracha, algumas como folhas secas sopradas pelo vento no outono: uma música tátil, exuberante e inebriante.
A mulher será em breve sutilmente embalada pelo ritmo. Será difícil para ela acreditar, acreditar de verdade, que alguma coisa de ruim possa lhe acontecer com aquela música como fundo.
Perfeito.
Ele volta apressado para o quarto e vai até a janela, de onde se afastou por não mais que um minuto.
Os pingos da chuva batem no vidro e escorrem.
O trailer lá embaixo continua como antes.
A mulher ainda deve estar lá dentro. Provavelmente não vai sair do veículo correndo; sua saída deve ser cautelosa, hesitante antes e depois de sair. Houve tempo para que ela saísse enquanto Mr. Vess estava no banheiro, mas quase com certeza teria se comprimido de costas contra o trailer, procurando orientar-se, avaliando a situação. De seu ponto de observação, ele pode ver quase toda a área em torno do veículo, exceto alguns pontos no lado esquerdo e na traseira; a mulher não está visível.
— Pronto quando estiver, Miss Desmond — diz ele, referindo-se à personagem de Gloria Swanson em Crepúsculo dos deuses.
O filme exercera um grande efeito sobre ele quando o vira pela primeira vez, na televisão. Tinha treze anos, há um ano em tratamento pelo assassinato da avó. De certo modo, sabia que Norma Desmond devia ser a vilã trágica da história, que o roteirista e o diretor pretendiam que ela fizesse esse papel — mas ele a admirara, a amara. Seu egoísmo era emocionante, seu egocentrismo heróico. Era a personagem mais autêntica que ele já vira num filme. As pessoas eram de fato assim, por trás de toda farsa e hipocrisia, por trás de todas as besteiras sobre amor, compaixão, altruísmo; eram todas como Norma Desmond, mas não conseguiam admitir isso para si mesmas. Norma não se importava nem um pouco com o resto do mundo, e dominava todos à sua vontade férrea, mesmo quando não era mais jovem, bela ou famosa; e quando não conseguiu dominar a personagem de William Holden como queria, pegou sua arma e atirou nele, um ato de poder, de audácia, tão impressionante que o jovem Edgler ficou excitado demais para dormir naquela noite. Ficara acordado, especulando como seria encontrar uma mulher tão superior e genuína quanto Norma Desmond — e depois destruí-la, matá-la, tirar toda a força de seu egoísmo e absorvê-la.
Talvez aquela mulher misteriosa fosse um pouco como Norma Desmond. Ela é ousada, sem dúvida. Mr. Vess não é capaz de presumir o que ela está fazendo, o que ela procura; e quando descobrir sua motivação, talvez não seja nada parecida com Norma Desmond. Mas pelo menos ela já é algo novo e interessante em sua experiência.
A chuva.
O vento.
O trailer.
Take the A train dá lugar a String of pearls.
Mr. Vess murmura baixinho contra a cortina:
— Pronto quando estiver.
Depois que o assassino saltou do trailer e bateu a porta, Chyna continuou a esperar no quarto escuro por um longo tempo, sob o acalanto de uma nota só da chuva.
Disse a si mesma que estava sendo prudente. Escute. Espere. Tenha certeza. Certeza absoluta.
Mas depois ela foi obrigada a admitir que perdera a coragem. Embora já tivesse se secado da chuva quase que por completo durante a viagem para o norte desde o Condado de Humboldt, ainda sentia frio e a fonte de seus tremores era o gelo da dúvida interior.
O comedor de aranhas se fora e, para Chyna, permanecer no escuro com dois cadáveres ainda era preferível a sair para um lugar em que poderia encontrá-lo de novo. Sabia que ele voltaria, que aquele quarto não era um local seguro, mas durante algum tempo o que sabia foi subjugado pelo que sentia.
Quando finalmente rompeu a paralisia, ela se movimentou com uma desenvoltura destemida, como se a menor hesitação pudesse resultar em outra e pior paralisia, que seria incapaz de superar. Abriu bruscamente a porta do quarto e avançou pelo corredor com o revólver empunhado à sua frente, porque o assassino poderia não ter desembarcado, no fim das contas. Passou pelo banheiro e a área de jantar, foi até a sala de estar, onde parou a uma pequena distância do banco do motorista.
A única claridade era de um desolado nevoeiro cinza, que cobria a clarabóia do corredor e o pára-brisa à frente, mas dava para constatar que o assassino não se encontrava ali. Ela estava sozinha.
Lá fora, em frente ao trailer, havia um pátio encharcado, umas poucas árvores pingando e um caminho tosco que levava a um galpão velho.
Chyna foi para a janela da direita, puxou cautelosamente uma cortina engordurada, avistou uma casa de troncos a seis ou sete metros de distância. Ele dissera aos homens no posto de gasolina que ia para casa depois de sua expedição de 'caça'; tudo o que dissera parecia verdadeiro, inclusive — e especialmente — as zombadas sobre a jovem Ariel.
O assassino deve estar lá dentro.
Chyna tornou a se adiantar, e inclinou-se sobre o banco do motorista para olhar a ignição. As chaves não estavam ali, nem no consolo entre os bancos.
Ela se sentou no banco do passageiro, sentindo-se exposta demais, apesar da chuva que escorria pelas janelas. Nada pôde encontrar no consolo, no porta-luvas, nas bolsas das portas ou debaixo dos bancos que revelasse o nome do proprietário ou qualquer coisa a seu respeito.
Logo ele voltaria. Por alguma razão demente, ele se dera a muito trabalho e assumira riscos para trazer os cadáveres; por isso, não era provável que os deixasse no trailer por muito tempo.
A chuva dificultava a visão, mas ela tinha a impressão de que todas as cortinas nas janelas do primeiro andar estavam fechadas, naquele lado da casa. Em conseqüência, o assassino não a veria por uma olhadela casual quando saísse do trailer. Não conseguia ver as janelas do segundo andar tão bem quanto as de baixo, mas deviam estar também com as cortinas fechadas.
Ela entreabriu a porta e um vento como uma faca fria entrou pela fresta. Saltou e fechou a porta tentando fazer o mínimo de barulho.
O céu estava grave e turbulento.
Colinas cheias de árvores erguiam-se em fileiras sucessivas por trás da casa, desaparecendo na neblina perolada. Chyna podia perceber montanhas assomando por trás das colinas, pelo céu nublado; ainda teriam os picos nevados naquele início de primavera.
Ela seguiu apressada pelo caminho de pedra e subiu para a varanda, para sair da chuva, mas esta caía tão forte que a deixou encharcada de novo. Parou com as costas na parede áspera.
Janelas ladeavam a porta da frente, com as cortinas fechadas por trás das duas mais próximas.
Música lá dentro.
Swing.
Ela olhou para as campinas, ao longo da alameda que levava da casa ao topo de uma colina baixa, sumindo em seguida. Talvez houvesse outras casas à beira do caminho além da colina, onde encontraria pessoas que poderiam ajudá-la.
Mas quem algum dia a ajudou, em todos aqueles anos?
Recordou-se das duas breves paradas que a haviam despertado, e desconfiou de que o trailer passara por um portão. Mas mesmo que fosse um caminho particular, ligava-se a alguma estrada pública, em que obteria ajuda de moradores ou motoristas de passagem.
O topo da colina ficava a pouco mais de meio quilômetro da casa. Era um bocado de terreno aberto a percorrer antes de sair da vista c alguém na casa. Se ele a visse, era quase certo que conseguiria alcançá-la antes que pudesse escapar.
E ainda não sabia se aquela casa era mesmo dele. E mesmo que fosse não tinha certeza se era o lugar onde mantinha Ariel. Se Chyna voltasse com a polícia e Ariel não estivesse ali, então o assassino talvez nunca revelasse onde poderiam encontrar a moça.
Ela precisava ter certeza de que Ariel estava presa no porão.
Mas se a garota estivesse aqui, o assassino poderia se barricar dentro da casa quando Chyna voltasse com a polícia. Seria preciso uma equipe da SWAT para arrancá-lo da casa — e antes de o pegarem, ele poderia matar Ariel e cometer suicídio.
Na verdade, era quase inevitável que isso acontecesse assim que a polícia aparecesse. Ele saberia que sua liberdade chegara ao fim, que seus jogos haviam acabado, que não teria mais sua diversão e só lhe restava uma última e apocalíptica celebração da loucura.
Chyna não suportaria perder aquela garota em perigo tão pouco tempo depois de perder Laura, de falhar com Laura. Não podia faltar às pessoas como haviam lhe faltado ao longo de toda a sua vida. O sentido da vida não podia ser encontrado nas aulas e compêndios de psicologia, mas na preocupação com os outros, no sacrifício, na fé, na ação. Ela não queria assumir aqueles riscos. Queria viver — mas por outra pessoa além de si mesma.
Pelo menos agora tinha um revólver.
E a vantagem da surpresa.
Antes, na casa dos Templeton, no trailer e no posto de gasolina, ela também tivera a vantagem da surpresa, mas ainda não tinha a arma.
Ela compreendeu que estava persuadindo a si própria a enveredar pelo curso de ação mais perigoso, formulando desculpas para entrar na casa. O que era uma loucura óbvia, uma loucura total, mas ela se empenhava em racionalizar porque já se decidira, era o que ia fazer.
Ao sair do trailer, a mulher tem uma arma na mão direita. Parece um 38 — talvez um Chiefs Special.
É uma arma popular entre alguns policiais. Mas aquela mulher não se comporta como uma policial, não empunha a arma como uma policial — embora seja evidente que está acostumada a usar um revólver.
Não, com toda certeza não é uma representante da lei. É alguma outra coisa. Bem esquisita.
Mr. Vess nunca se sentiu tão intrigado por alguém quanto por aquela mulher corajosa, aquela aventureira misteriosa. É uma iguaria incomparável.
No instante em que ela corre do trailer para a casa e some de vista, Vess se desloca da janela na parede sul de seu quarto para a janela na parede leste. Também é coberta por uma cortina azul, que ele entreabre.
Nenhum sinal dela.
Ele espera, prendendo a respiração, mas a mulher não sai correndo para leste, pela alameda. Depois de aproximadamente meio minuto, Vess tem certeza de que ela não vai fugir.
Se a mulher fugisse, ele ficaria bastante desapontado. Não pensa nela como uma pessoa que fugiria. É ousada. E Vess quer que ela seja ousada.
Se ela fugisse, mandaria os cães em seu encalço, não com instruções para matar, mas apenas para detê-la, e depois a aprisionaria para um interrogatório sem pressa.
Mas ela está vindo para ele. Por alguma razão inimaginável, decidiu segui-lo pelo interior da casa. Com o revólver.
Ele terá de ser cauteloso. Ah, como será divertido! A arma só serve para tornar o jogo mais intenso.
A varanda da frente fica logo abaixo da janela, mas ele não consegue vê-la devido à saliência do telhado. A mulher misteriosa encontra-se em algum ponto da varanda. Pode senti-la bem próxima, talvez logo embaixo.
Ele pega a pistola na mesinha de cabeceira, atravessa o quarto acarpetado até a porta aberta. Sai para o corredor e avança depressa para o alto da escada próxima, onde pára. Consegue avistar apenas o patamar lá embaixo, não a sala de estar, mas fica escutando.
Se a mulher abrir a porta da frente, ele saberá, porque uma das dobradiças solta um estalido. Não é um som muito alto, mas é característico. Como ele dirige a atenção para esse som específico, nem mesmo o tamborilar da chuva no telhado, o barulho do chuveiro no banheiro e os acordes de In the mood no rádio poderão abafá-lo por completo.
Uma loucura. Mas ela a cometeria. Por Ariel. Por Laura. Mas também por si mesma. Talvez acima de tudo por si mesma.
Depois de tantos anos debaixo de camas, dentro de armários e nas sombras de sótãos — chega de se esconder. Depois de tantos anos a sobreviver apenas, mantendo a cabeça abaixada, sem atrair nenhuma atenção — subitamente ela tinha de fazer alguma coisa ou explodir. Vivia numa prisão desde o dia em que nascera, mesmo depois de abandonar a mãe — uma prisão de medo, vergonha e expectativas reduzidas —, e se acostumara tanto a sua vida restrita que nem percebia as barreiras. Agora a raiva justificada a libertava, e sentia-se tonta com a liberdade.
O vento frio a fustigava, lançando parte da chuva para debaixo do telhado da varanda.
Um carrilhão de conchas fazia barulho, um som irritante.
Chyna passou pela janela, tentando desviar-se dos vários caracóis no chão da varanda. As cortinas permaneciam fechadas.
A porta da frente fora fechada, mas não trancada. Ela a empurrou para dentro, devagar. Uma dobradiça estalou.
A música da big band terminou comum floreio, e no instante seguinte duas vozes se elevaram no interior da casa. Chyna ficou imóvel no umbral, mas depois percebeu que ouvia um anúncio. A música saía de um rádio.
Era possível que o assassino partilhasse a casa com outra pessoa além de Aliei, e além da coleção de vítimas ainda vivas ou cadáveres que trazia de suas expedições. Chyna não podia conceber que ele tivesse uma família, esposa e filhos, uma Brady Bunch psicótica à sua espera; mas havia raros casos conhecidos de sociopatas homicidas trabalhando juntos, como os dois homens que se descobriu serem o Estrangulador de Hillside, em Los Angeles, vinte anos antes.
Vozes no rádio, porém, não eram uma ameaça.
Com o revólver à frente, ela entrou. O vento assobiou pela casa, sacudindo um abajur e ameaçando denunciar sua presença, por isso ela apressou-se em fechar a porta.
As vozes do rádio desciam pelo poço de uma escada próxima, à sua esquerda. Ela se manteve de olho no vão da escada, para o caso de mais vozes descerem.
A sala da frente no andar térreo estendia-se por toda a largura da pequena casa; embora fosse iluminada apenas pela claridade cinzenta que entrava pelas janelas, não era nada parecida com o que Chyna esperava encontrar. Havia poltronas de couro verde com bancos para os pés, um sofá com estofamento de tartã com enormes pés redondos, mesas de canto rústicas de carvalho e uma estante, que devia conter cerca de trezentos livros. Na lareira feita de pedras de rio havia um suporte de latão e, no consolo, um velho relógio com dois veados de bronze empinando sobre as patas traseiras. A decoração era toda masculina, embora não de todo agressiva — não havia cabeças de veado ou urso com olhos de vidro nas paredes, nenhuma gravura de caça, nenhum rifle em exposição, era apenas aconchegante e confortável. Onde ela esperava um atravancamento de coisas, como sintoma de uma mente gravemente perturbada, havia ordem. Em vez de sujeira, asseio; mesmo no escuro, Chyna pôde perceber que a sala fora bem espanada e varrida. Em vez de se mostrar sufocante com o fedor da morte, a casa recendia a óleo de lustrar móveis com fragrância de limão e a um sutil purificador de ar à base de essência de pinho, além do odor tênue e agradável do carvão na lareira.
As vozes do rádio desciam com o maior entusiasmo pela escada, vendendo os serviços fiscais da H & RBlock e depois biscoitos. O assassino o ligara alto demais; o volume pareceu suspeito para Chyna, como se ele estivesse tentando encobrir outros sons.
Havia outro som, parecido com a chuva, mas um pouco diferente, e depois de um momento ela o identificou. Um chuveiro aberto.
Então era por isso que ele pusera o rádio tão alto. Escutava a música enquanto tomava um banho de chuveiro.
Ela estava com sorte. Enquanto o assassino permanecesse no chuveiro, poderia procurar Ariel sem o risco de ser descoberta.
Chyna atravessou apressadamente a sala em direção a uma porta entreaberta, entrou e descobriu que era a cozinha. Azulejos de um tom amarelo-canário, com armários de pinho. No chão, ladrilhos cinza de vinil, com pintas amarelas, verdes e vermelhas. Bem lavada. Tudo em seu lugar.
Ela estava encharcada, a água pingava dos cabelos e escorria do jeans para o chão limpo.
Ao lado da geladeira havia um calendário já virado para o mês de abril, com uma fotografia em cores de um gato branco e outro preto — ambos com olhos verdes espetaculares — espiando de um enorme ramo de lírios.
A normalidade da casa a apavorava: as superfícies reluzentes, o esmero, os toques domésticos, a impressão de que vivia ali uma pessoa que podia andar à luz do dia em qualquer rua e passar por humana, apesar das atrocidades que cometia.
Não pense a respeito.
Continue a agir. A segurança está no movimento.
Ela foi até a porta dos fundos. Pelas quatro vidraças na parte superior, viu uma varanda, um quintal gramado, duas árvores grandes e o galpão.
Sem nenhuma divisória arquitetônica, a cozinha abria-se para a área de jantar, e o espaço combinado ocupava uns dois terços da largura da casa. A pequena mesa de jantar redonda era de pinho escuro, sustentada por um grosso tambor central, em vez de pernas; as quatro cadeiras pesadas eram também de pinho, com almofadas amarradas no encosto e no assento.
Lá em cima, a música recomeçou, só que soava mais baixo na cozinha. Mas se ela fosse aficionada pela música das big bands, reconheceria aquela melodia.
O barulho do chuveiro aberto era mais evidente na cozinha do que na sala de estar, porque os canos passavam pela parede dos fundos da velha casa. A água sendo levada para cima, até o banheiro, fazia um barulho característico no cano de cobre. Além disso, o cano não era bem preso e isolado como deveria, e em algum ponto de seu curso vibrava contra uma coluna na parede: um som de batidas rápidas por trás do reboco, tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá.
Se esse barulho cessasse de repente, ela saberia que seu tempo seguro na casa era limitado. No silêncio que se seguiria, não poderia contar com mais que um ou dois minutos de prazo, enquanto ele se enxugava. Depois, o assassino poderia aparecer em qualquer lugar.
Chyna olhou ao redor, à procura de um telefone, mas encontrou apenas uma tomada na parede onde antes se podia ligar um aparelho. Se houvesse um telefone, ela poderia parar e ligar 911, supondo que 911 fosse o número de emergência em... onde quer que estivessem: no meio do mato. Saber que havia ajuda a caminho tornaria o restante da busca menos angustiante.
No lado norte da área de jantar havia outra porta. Embora o assassino estivesse no chuveiro lá em cima, ela virou a maçaneta tão silenciosamente quanto pôde e passou pela porta com a maior cautela.
Era uma combinação de lavanderia e despensa. Uma máquina de lavar roupas. Uma secadora elétrica. Caixas e garrafas de produtos de lavanderia guardadas de maneira ordenada em duas prateleiras abertas, o ar recendendo a detergente e alvejante.
O barulho da água e do cano batendo era ainda mais alto aqui do que na cozinha.
A esquerda, além da máquina de lavar e da secadora, havia outra porta — de pinho áspero, pintada de verde claro. Chyna abriu-a e viu uma escada descendo para um porão escuro. Seu coração disparou.
— Ariel... — chamou ela, baixinho.
Mas não houve resposta, porque falara mais para si mesma do que para a garota.
Não havia nenhuma janela lá embaixo. Nem mesmo uma réstia de claridade cinzenta se infiltrava por frestas ou aberturas de ventilação. Escuridão de masmorra.
Mas se o filho da puta mantinha uma garota cativa ali embaixo, era muito estranho que não tivesse acrescentado uma tranca à porta de cima. Tinha apenas uma lingüeta de mola que recuava quando se girava a maçaneta, não uma fechadura de verdade.
Claro que a prisioneira poderia estar trancafiada num cômodo sem janelas lá embaixo, ou mesmo algemada. Ariel podia não ter a menor possibilidade de alcançar a escada e a porta superior, mesmo que ficasse sozinha por dias. Isso explicaria por que o assassino se mostrava confiante de que não havia necessidade de mais uma barreira para sua fuga, mesmo quando saía de casa.
Não obstante, parecia estranho que ele não se preocupasse que um ladrão arrombasse a casa durante sua ausência, descesse ao porão e inadvertidamente descobrisse a garota aprisionada. Considerando a idade óbvia da estrutura, sua rusticidade e a falta aparente de controles de alarme, Chyna duvidava que a casa tivesse um sistema de segurança. O assassino, com todos os seus segredos, deveria ter instalado uma porta de aço na entrada do porão, com trancas tão inexpugnáveis quanto as do cofre de um banco.
A falta de segurança especial podia significar que a garota, Ariel, não estava ali.
Chyna não queria se deter naquela possibilidade. Tinha de encontrar Ariel de qualquer maneira.
Inclinou-se pela porta, tateou pela parede da escada à procura do interruptor, acionou o botão. Luzes se acenderam no patamar superior e no fundo do porão.
Os degraus de concreto — um único lance — eram íngremes. Pareciam muito mais novos do que o resto da casa, talvez mesmo um acréscimo relativamente recente.
A água passando em alta velocidade pelo encanamento e o cano solto batendo na parede indicavam que o assassino continuava no chuveiro lá em cima, lavando todos os vestígios de seus crimes. Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá...
Mais alto do que antes, mas ainda num sussurro, ela chamou de novo:
— Ariel...
Não houve resposta do ar parado lá embaixo.
Mais alto: "Ariel..."
Nada.
Chyna não queria descer para aquele poço sem janelas, sem outra saída que não a escada, mesmo com uma porta sem tranca em cima. Mas não podia pensar em outra maneira de evitar a descida, não se quisesse ter certeza da presença de Ariel.
Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá...
Sempre acabava assim, mesmo tendo deixado a infância para trás, já crescida e supostamente no controle de tudo, Chyna ainda terminava daquela maneira: sozinha, atordoada de medo, metida num lugar apertado, escuro e desolado, sem saídas, sustentada apenas pela louca esperança, com o mundo indiferente, sem ninguém para indagar por ela ou se preocupar com o seu paradeiro.
Escutando atentamente a menor mudança no som da água correndo e do cano vibrando, Chyna desceu, um degrau de cada vez, a mão esquerda no corrimão de ferro. Continuava a empunhar o revólver com a mão direita estendida; apertava-o com tanta força que as articulações doíam.
— Chyna Shepherd, incólume e viva — balbuciou ela, trêmula. — Chyna Shepherd, incólume e viva.
No meio da escada, ela olhou para trás e para cima. Na extremidade de sua trilha de pegadas molhadas, o patamar parecia a meio quilômetro de distância, tão distante quanto o topo das colinas lhe parecera da varanda da frente da casa.
Alice desceu pela toca do coelho para uma loucura sem festas de chá.
Pela porta aberta entre a cozinha e lavanderia, Mr. Edgler Vess ouve a mulher misteriosa chamar Ariel. Ela se encontra a poucos passos de distância, logo depois da máquina de lavar e da secadora, e por isso não pode haver qualquer equívoco sobre o nome falado.
Ariel.
Estupefato, piscando os olhos, a boca aberta, aspirando a fragrância de detergente e ouvindo o barulho abafado dos canos de cobre na parede, ele fica imóvel, com a voz dela ressoando na cabeça.
Não há como a mulher saber sobre Ariel.
Contudo, ela chama a garota de novo, mais alto que antes.
De repente, Mr. Vess se sente terrivelmente violado, oprimido, observado. Vira a cabeça para olhar pelas janelas na área de jantar e cozinha, esperando deparar com os rostos radiantes de estranhos acusadores comprimidos contra o vidro. Vê apenas a chuva e a claridade cinzenta, mas ainda assim fica angustiado.
Aquilo já não está divertido. Nem um pouco.
O mistério é profundo demais. E alarmante.
E como se a mulher não tivesse vindo ao encontro dele naquele Honda, mas sim por uma barreira invisível entre dimensões, procedente de um mundo além deste, de onde o observava secretamente. O sabor é sem dúvida sobrenatural, a textura do outro mundo, e agora o detergente da lavanderia cheira a incenso queimando, o ar parece denso com presenças invisíveis.
Amedrontado e atormentado pela dúvida, desacostumado a essas emoções, Mr. Vess entra na lavanderia, erguendo a Heckler & Koch P7. Coloca o dedo no gatilho, pronto para disparar.
A porta do porão está aberta. A luz da escada acesa.
E a mulher não se encontra à vista.
Ele retira o dedo do gatilho.
Nas raras ocasiões em que tem convidados na casa, para jantar ou uma reunião de negócios, ele sempre deixa um doberman na lavanderia. O cão fica deitado ali em silêncio, cochilando. Mas se outra pessoa que não Vess entrasse, o cão latiria e rosnaria, obrigando-a a recuar.
Quando o dono está ausente, os dobermans patrulham vigilantemente toda a propriedade, e ninguém sequer pensa em alcançar a casa, muito menos o porão.
Mr. Vess nunca pôs uma tranca na porta que leva ao porão porque se preocupa com a possibilidade de ela se fechar acidentalmente, aprisionando-o lá embaixo enquanto estivesse se divertindo, desprevenido. É claro que essa catástrofe nunca poderia ocorrer com uma tranca operada com chaves. Ele próprio é incapaz de imaginar como tal mecanismo poderia apresentar defeito e prendê-lo no outro lado; mesmo assim, preocupa-se com a perspectiva de isso acontecer e não se arrisca.
Ao longo dos anos, ele tem visto coincidências ocorrerem no mundo, resultando na morte de pessoas. Numa tarde ao final de junho, perto do anoitecer, quando Mr. Vess guiava para Reno, Nevada, pela Interestadual 80, uma jovem loura num Mustang conversível ultrapassara seu trailer. Usava um short branco e uma blusa também branca, os cabelos compridos flutuavam ao vento, vermelho-dourados. Dominado por uma necessidade instantânea e poderosa de esmagar aquele rosto bonito, ele acelerara o trailer ao limite máximo para manter à vista o Mustang, que era mais veloz, mas sua perseguição parecia inútil. Enquanto a estrada subia para as Sierras, a velocidade do trailer caíra, e o Mustang se distanciara. Mesmo que ele conseguisse se aproximar da mulher, o tráfego era muito intenso — testemunhas demais — para que ele tentasse algo tão ousado como jogá-la para fora da estrada. E de repente um dos pneus do Mustang estourou. Viajando em tamanha velocidade, ela quase derrapara, quase capotara, ziguezagueando pela estrada, uma fumaça azul saindo dos pneus, mas conseguira recuperar o controle e parará no acostamento. Mr. Vess parará o trailer para ajudá-la. Ela se mostrara grata por sua oferta de ajuda, sorrindo com uma agradável timidez, uma boa moça com uma cruz de ouro pendurada de uma corrente no pescoço. Mais tarde ela chorara amargurada, debatera-se de maneira excitante, tentando resistir à perda de sua beleza, procurando desviar o rosto de vários instrumentos afiados, apenas uma brava jovem cheia de vida e a caminho de Reno, até que a coincidência a entregou a Mr. Vess.
E se um pneu pode estourar, por que uma tranca não poderia apresentar um defeito?
Se a coincidência pode dar, também pode tirar.
Mr. Vess vive com intensidade, mas não sem cautela.
Agora aquela mulher, chamando por Ariel, entrou em sua vida como um pneu furado, e de repente não tem certeza se ela é um presente para ele ou o inverso.
Lembrando-se do revólver dela e desejando a presença de seus dobermans, ele atravessa a lavanderia até a porta do porão. A voz da mulher se eleva da escada lá embaixo: "China Shepherd, incólume e viva".
As palavras são tão estranhas — o significado tão misterioso — que parecem um encantamento, codificado e secreto. Como se confirmasse essa percepção, a mulher repete, como se estivesse cantando: "China Shepherd, incólume e viva".
Vess não costuma ser supersticioso, mas sente um senso aguçado de algo sobrenatural, mais do que qualquer coisa que já sentiu até agora. Tem um arrepio na nuca, a mão aperta a pistola ainda mais.
Depois de um pouco de hesitação, ele se inclina pela porta aberta e olha pela escada do porão.
A mulher se encontra a poucos degraus da base da escada. Ela se apoia no corrimão com uma das mãos, e a outra, estendida à sua frente, empunha o revólver.
Não é uma policial. Uma amadora.
Mesmo assim, ela pode ser o pneu furado de Mr. Vess. Ele fica nervoso, ainda muito curioso a respeito dela, mas disposto a pôr sua segurança acima da curiosidade.
Passa pela porta para o patamar superior.
Embora ela esteja perto, não consegue ouvi-lo, porque tudo é feito de concreto, não há nada para ranger.
Mr. Vess aponta a pistola para o meio das costas da mulher. O primeiro tiro vai derrubá-la, lançá-la para o chão lá embaixo com os braços estendidos, e o segundo tiro vai atingi-la em pleno vôo. Depois ele descerá a escada, disparando o terceiro e quarto tiros, se possível nas pernas. Ficará por cima dela, encostará o cano do revólver em sua nuca, e então, só então, quando tiver o controle total, dominante, decidirá se a mulher ainda é uma ameaça ou não, se pode correr o risco de interrogá-la, ou se ela é tão perigosa que nada servirá a não ser dois tiros em sua cabeça.
Quando a mulher passa sob a luz, perto da base da escada, Mr. Vess consegue observar melhor seu revólver. É de fato um Smith & Wesson 38 Chief s Special, como pensara antes, ao vê-lo da janela do quarto no segundo andar, mas subitamente a marca e o modelo da arma adquirem um significado eletrizante.
Ele sente o cheiro de um salame Slim Jim. Lembra-se de olhos escuros como a noite se arregalando em choque, terror e desespero.
Viu duas armas como aquela nas últimas horas. A primeira pertencia ao jovem oriental do posto de gasolina, que a tirara de baixo do balcão em autodefesa, mas nunca tivera a oportunidade de disparar.
Embora o Chief´s Special seja um revólver popular, não é tão universalmente admirado que se possa encontrá-lo em uso por toda parte. Edgler Vess sabe, com a certeza de uma raposa na pista de um coelho no mato, que se trata da mesma arma.
Embora ainda persistam muitos mistérios sobre a mulher lá embaixo, embora sua presença aqui não seja menos espantosa do que antes, não há nada de sobrenatural nela. Conhece o nome Ariel não porque o observava de um mundo além deste, não porque esteja a serviço de alguma força superior, mas apenas porque devia estar lá, no posto de gasolina, quando Vess conversava com os dois empregados e quando, momentos depois, os matara.
Onde ela podia ter se escondido, como ele pudera tê-la ignorado, por que ela sentira a necessidade de persegui-lo, de onde extraíra tanta coragem para aquela aventura imprudente, são coisas que ele não consegue discernir apenas pela intuição. Mas agora terá a oportunidade de fazer todas essas perguntas à mulher.
Ele baixa a pistola, recua para a lavanderia, para que a mulher não o veja se por acaso olhar para cima.
Seu medo atípico e sua insólita percepção de opressivas forças naturais dissipam-se como um nevoeiro, e Mr. Vess fica espantado com seu breve espasmo de credulidade. Logo ele, que não tem ilusões sobre a natureza da existência. Logo ele, que vê tudo com clareza. Até mesmo ele, o mais racional de todos os homens, ficou assombrado.
Ele quase ri de sua tolice — e no instante seguinte trata de tirá-la da mente.
A essa altura a mulher deve ter alcançado o fim da escada.
Permitirá que ela explore o local. Afinal, por alguma razão bizarra, é o que ela veio fazer aqui, e Vess fica curioso quanto a sua reação às coisas que vai descobrir.
Ele está se divertindo de novo.
Mais uma vez, o jogo continua.
Chyna chegou ao fim da escada.
A parede externa de pedra com argamassa ficava à sua direita. Não havia lugar nenhum para ir nessa direção.
A esquerda havia uma câmara com cerca de três metros de extensão, tão larga quanto a casa. Ela se afastou do pé da escada, em direção a esse novo espaço.
De um lado havia uma fornalha a óleo e um enorme ebulidor elétrico. Do outro lado, armários altos de metal, com fendas para ventilação nas portas, uma bancada de trabalho e uma caixa de ferramentas sobre rodas.
Bem na sua frente, numa parede de blocos de concreto, uma estranha porta a aguardava.
Clique-suish.
Chyna virou-se para a direita e quase disparou um tiro antes de perceber que o som viera da fornalha: o piloto elétrico se acendendo, o óleo pegando fogo.
Por cima do som da fornalha, ela ainda podia ouvir o cano vibrando.
Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Era mais fraco ali do que na escada, mas ainda audível.
Mal dava para ouvir a música no banheiro do segundo andar, um fio de melodia inconstante, quase só os trechos dos metais, um agudo do clarinete.
Evidentemente à prova de som, a porta na parede do fundo era acolchoada como uma porta de teatro, em vinil marrom imitando couro, dividido em quadrados como uma colcha por oito tachões de tapeçaria de cabeça redonda encapados com vinil da mesma cor. A armação era revestida com o mesmo material.
Nenhuma tranca, nem mesmo uma lingüeta de mola, a impedia de passar por aquela porta.
Chyna estendeu a mão para o vinil e descobriu que o estofamento era ainda mais espesso do que parecia. Devia haver no mínimo uns cinco centímetros de espuma.
Ela pegou na maçaneta comprida em forma de U, de aço inoxidável. Quando empurrou, a porta coberta com vinil rangeu ao raspar no estofamento do umbral. O talhe era preciso: quando a porta se afastou do umbral, houve um som similar ao que ocorre quando se abre uma lata de castanhas embaladas a vácuo.
A porta era acolchoada também por dentro. A espessura total devia se aproximar de quinze centímetros.
Além dessa nova passagem havia uma câmara pequena, de teto baixo, que lembrava um elevador, só que todas as superfícies, exceto o chão, eram acolchoadas. O chão era coberto por uma esteira de borracha do tipo usado em muitas cozinhas de restaurante para o conforto dos cozinheiros, que trabalhavam de pé por horas a fio. Em meio à claridade difusa de uma lâmpada embutida no teto, ela verificou que o revestimento não era de vinil, mas de algodão cinza, com uma textura nodosa.
A estranheza do lugar aumentou o medo de Chyna, mas ao mesmo tempo ela teve tanta certeza de compreender o propósito daquele vestíbulo acolchoado que seu estômago se revirou de náusea.
Havia outra porta bem em frente à que Chyna abrira. Também era acolchoada.
Mas aquela porta tinha trancas. O estofamento cinza estufava-se em torno de dois cilindros de latão. Ela não poderia seguir adiante sem as chaves.
Foi então que percebeu um pequeno painel acolchoado na própria porta, ao nível dos olhos, talvez com quinze por vinte e cinco centímetros, com uma maçaneta. Era como um painel corrediço sobre uma janelinha na porta maciça de uma cela de prisão de segurança máxima.
Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá...
O assassino parecia estar tomando um banho de chuveiro excepcionalmente prolongado. Por outro lado, Chyna não entrara na casa há mais de três minutos; apenas parecia mais tempo. Se era um banho sem pressa, talvez ainda nem estivesse na metade.
Tá-tá-tá...
Ela teria preferido manter a porta externa aberta enquanto avançava pelo vestíbulo e puxava o painel na janelinha, mas a distância era grande demais. Tinha de deixar a porta se fechar às suas costas.
No momento em que a porta acolchoada se encontrou com o umbral também acolchoado, com um sussurro de vinil raspando em vinil, Chyna não conseguiu mais ouvir a vibração do cano de água. O silêncio era tão profundo que sua própria.respiração entrecortada era quase inaudível. Por baixo do acolchoado, as paredes deviam estar cobertas por algum material à prova de som.
Ou talvez o assassino tivesse fechado o chuveiro no instante em que a porta encaixara no umbral. E agora começasse a se enxugar. Ou estivesse vestindo um roupão, sem perder tempo se enxugando. Aprontando-se para descer.
Assustada, incapaz de respirar, Chyna abriu a porta de novo.
Tá-tá-tá-tá-tá e o fluxo de água em alta velocidade, sob pressão.
Ela soltou o ar, num alívio explosivo.
Ainda estava segura.
Muito bem, mantenha a calma, continue em movimento, descubra se a garota está aqui e depois faça o que tem de ser feito.
Relutantemente, ela deixou a porta se fechar. O barulho do cano foi isolado outra vez.
Chyna tinha a sensação de sufocar. Talvez a ventilação no vestíbulo fosse inadequada, mas era o efeito do amortecimento do som pelas paredes acolchoadas, pelo menos tanto quanto o fluxo de ar insuficiente, que fazia a atmosfera parecer densa como fumaça e irrespirável.
Chyna puxou o painel corrediço na porta interna.
Havia uma luz rosada no outro lado.
A janelinha tinha uma tela grossa para proteger o observador de quem estivesse no outro lado.
Chyna encostou o rosto ali e viu uma câmara grande, quase do tamanho da sala de estar sob a qual se situava. Em partes do espaço as sombras eram profundas, e a iluminação vinha de três abajures com copas de pano franjada, com lâmpadas rosadas de quarenta watts.
Em dois lugares na parede do fundo havia painéis de brocado vermelho e dourado, pendendo de varetas de latão como se cobrissem janelas, mas não podia haver janelas lá embaixo; o brocado fora instalado apenas para tornar o aposento mais confortável. Na parede à esquerda, mal atingida pela luz, havia uma enorme e esfarrapada tapeçaria: uma cena de mulheres de vestido comprido e chapéu, montadas de lado em cavalos, passando por relva e flores, com uma floresta verdejante ao fundo.
A mobília incluía uma poltrona com sobrecoberta, uma cama de casal com cabeceira branca, na qual estava pintada uma cena não discernível na luz rosada, estantes com relevos de acantos, armários com portas de mainel, uma pequena mesa toda esculpida, cadeiras Directoire com almofadas de estampas floridas ladeando a mesa e uma geladeira. Havia também um enorme guarda-roupa escuro, com apliques de flores em todas as portas, bem antigo, mas que provavelmente não era uma antiguidade genuína; danificado, mas bonito. Chyna viu ainda um banco com uma almofada diante de uma penteadeira, o espelho tríptico, a moldura dourada. Num canto havia um vaso sanitário e uma pia.
Por mais estranho que fosse aquele quarto subterrâneo, como um depósito para os móveis de cena de Este mundo é um hospício, a coleção de bonecas era ainda mais estranha. Eram bonecas Kewpie, Cabbage Patch Kids, Raggedy Ann e vários outros tipos, antigas e novas, algumas com mais de um metro de altura, algumas menores que uma caixa de leite, vestidas com fraldas, trajes de neve, vestidos de noiva, macacões quadriculados, roupas de caubói, uniforme de tenista, pijamas, saias havaianas, quimonos, fantasias de palhaço, camisolas, roupas de marinheiro. Ocupavam a estante, espiavam pelas portas de vidro de alguns armários, empoleiravam-se no guarda-roupa, sentavam-se em cima da geladeira, estavam de pé e sentadas no chão ao longo das paredes. Outras haviam sido empilhadas num canto e ao pé da cama, braços e pernas se projetando nos ângulos mais estranhos, cabeças viradas como se tivessem quebrado o pescoço, como pilhas de cadáveres com roupas coloridas aguardando o transporte para um crematório. Duzentos, trezentos ou mais pequenos rostos luziam na suave claridade ou pareciam fantasmas nas sombras, algumas de biscuit, algumas de porcelana comum, algumas de pano, algumas de madeira e algumas de plástico. Os olhos de vidro, lata, botão, pano e cerâmica pintada refletiam a luz, brilhavam forte nas bonecas próximas dos três abajures, lembravam brasas abafadas nas bonecas relegadas aos cantos mais escuros.
Por um momento, Chyna ficou meio convencida de que aquelas bonecas podiam ver, exceto por umas poucas que pareciam cegas por trás de cataratas de luz rosa, com essa 'percepção' faiscando nos olhos terríveis. Embora nenhuma se mexesse — ou sequer desviasse o olhar — havia em torno delas uma aura de vida. Possuíam um poder fantástico, como se o assassino também fosse um bruxo que roubava a alma das pessoas que assassinava e as aprisionava naquelas bonecas.
E depois um ligeiro movimento no quarto, uma sombra saindo do escuro provou ser a cativa; e quando ela ficou plenamente visível, as bonecas perderam sua estranha magia. Era a criança mais linda que Chyna já vira, mais bela ainda que na foto Polaroid, os cabelos lisos lustrosos, com uma encantadora tonalidade castanho-avermelhada sob a iluminação peculiar, embora na realidade fossem louro-platinados. Esguia, graciosa, possuía uma beleza etérea, angelical. Parecia não ser uma garota real, mas uma aparição, trazendo uma mensagem sobre redenção, uma manjedoura, esperança, uma estrela-guia.
Usava chinelos pretos, meias brancas até os joelhos, uma saia azul ou preta, uma blusa branca de mangas curtas com um debrum preto em torno da gola e do bolso no peito, como se fosse o uniforme de uma escola católica.
Não havia a menor dúvida de que o assassino fornecia as roupas que queria que ela usasse, e Chyna percebeu no mesmo instante por que ele preferia trajes assim. Embora fisicamente ela tivesse dezesseis anos, parecia mais jovem naquela roupa; com os braços finos, pulsos e mãos delicados, naquela claridade rosada, o uniforme recatado a fazia parecer uma menina de onze anos à espera da crisma, ingênua e inocente.
Sociopatas como aquele homem sentiam-se atraídos pela beleza e pela inocência, porque se sentiam compelidos a profaná-las. Quando a inocência é eliminada, a beleza desfigurada e destruída, a besta malformada pode finalmente se sentir superior à pessoa que cobiçou. Quando os inocentes e belos estivessem mortos e apodrecendo, o mundo seria mais parecido com a paisagem interior do assassino.
A garota se sentou na poltrona.
Segurava um livro. Abriu-o, virou algumas páginas, dava a impressão de ler.
Embora certamente tivesse ouvido o painel deslizando na janelinha, não olhou nessa direção. Ao que tudo indicava, presumia que o visitante era, como sempre, o comedor de aranhas.
Com um ímpeto de emoção que deixou seu coração apertado e a surpreendeu pela intensidade, Chyna chamou: "Ariel".
O nome passou pela janelinha como se penetrasse num vazio sem ar, sem se propagar pela menor distância, sem criar nenhum eco.
Era óbvio que a cela da garota fora revestida com numerosas camadas de material isolante, talvez mais camadas ainda do que no vestíbulo. Toda aquela preocupação em abafar os gritos da prisioneira parecia indicar que o assassino convidava pessoas à sua casa de vez em quando. Talvez para jantar. Ou para tomar algumas cervejas e assistir a uma partida de futebol americano. Que ele ousasse fazer isso era apenas mais uma prova de sua audácia afrontosa.
Mas o fato de ele ter amigos deixava Chyna assustada, amigos que não eram dementes, que ficariam horrorizados se descobrissem a garota no porão, se soubessem que seu anfitrião chacinava famílias inteiras por diversão. Ele se passava por humano no mundo cotidiano. As pessoas riam de suas piadas. Pediam seus conselhos. Partilhavam com ele alegrias e pesares. Talvez ele freqüentasse a igreja. Em algumas noites de sábado será que ele saía para dançar, deslizando pelo salão com uma sorridente mulher em seus braços, acompanhando o ritmo da música que todos ouviam?
Chyna elevou a voz: "Ariel".
A garota não olhou.
Mais alto ainda, quase gritando, pela janelinha na porta: "Ariel!"
Na poltrona, os joelhos juntos numa pose recatada, o livro no colo, a cabeça abaixada para a página, os cabelos escondendo a maior parte do rosto, Ariel continuou sentada como se fosse surda — ou como se fosse uma garota no fundo de um armário, desligando-se das discussões aos gritos de adultos bêbados e drogados, desligando-se cada vez mais até mergulhar num lugar só seu, profundo, silencioso, intocável.
Chyna recordou as ocasiões, quando era pequena, em que apenas se esconder da mãe e dos amigos mais perigosos dela não lhe proporcionava uma sensação de segurança suficiente. Às vezes as discussões ou comemorações se tornavam violentas ou efusivas demais; o caos de ruídos, risadas desvairadas e imprecações giravam ao seu redor como um tornado, até mesmo em seu esconderijo. O medo escapava ao seu controle, até ela pensar que o coração ia estourar ou a cabeça explodir. Era então que ela partia para lugares mais acolhedores em sua mente, passando pelo fundo do velho guarda-roupa para a terra de Narnia, sobre a qual lera nos livros maravilhosos de CS. Lewis, ou visitava a Floresta Encantada de O vento nos salgueiros ou escapulia para os reinos de sua imaginação.
Sempre fora capaz de retornar dessas evasões. Mas chegara a pensar que seria maravilhoso permanecer naqueles lugares distantes, onde nem a mãe nem pessoas como ela jamais poderiam encontrá-la de novo, por mais que procurassem. Naqueles reinos exóticos havia perigos freqüentes, mas também amigos autênticos e fiéis, muito diferentes dos que viviam do lado de cá do guarda-roupa mágico.
Agora, espiando pela janelinha para a moça na poltrona, Chyna teve certeza de que Ariel buscara refúgio em algum lugar distante e se desligara deste mundo lamentável de todas as maneiras possíveis. Depois de um ano naquele buraco sinistro, sofrendo de vez em quando as atenções do sociopata lá de cima, talvez ela tivesse se embrenhado tanto na estrada da aventura interior que não poderia voltar com facilidade — ou talvez nunca mais retornasse.
Depois de algum tempo, porém, a garota ergueu os olhos do livro, mas não fitou o rosto de Chyna na janelinha da porta nem se fixou em nenhum outro ponto do quarto. Mesmo sob a inadequada claridade rosada, Chyna pôde perceber que os olhos de Ariel eram desfocados, tão estranhos quanto os das bonecas que a cercavam.
O assassino dissera aos homens no posto de gasolina que ainda não tocara em Ariel "daquele jeito", e Chyna acreditava nele. Porque depois de tirar sua inocência, ele precisaria destruir sua beleza; e quando acabasse de fazer isso, haveria de matá-la. O fato de Ariel permanecer viva indicava que ainda não fora violada.
Contudo, dia após dia, mês após mês, ela vivera num suspense exaustivo, esperando que o abominável filho da puta decidisse que ela estava 'madura', esperando por sua brutal agressão, o bafo azedo em seu rosto, as mãos quentes e insistentes, o peso terrível e irresistível de seu corpo, todas as indignidades e humilhações. Não havia onde se esconder em seu quarto; não poderia escapar para o telhado, a praia, o sótão, não poderia rastejar para o espaço apertado por baixo da casa, não poderia subir para os galhos mais altos da árvore no quintal.
— Ariel.
O refugio para o qual ela escapara podia estar nas páginas do livro em seu colo. Ela agia neste mundo, se arrumando, comendo, tomando banho e se vestindo, mas vivia em alguma outra dimensão.
O coração de Chyna ondulava num mar de pesar, numa tempestade de raiva, e ela disse pela janelinha na porta:
— Estou aqui, Ariel. Estou aqui. Você não está mais sozinha.
O olhar de Ariel não se deslocou dos sonhos, c ela permaneceu tão imóvel quanto as bonecas.
— Sou sua guardiã, Ariel. Eu a manterei segura.
Enquanto a garota seguia por uma estrada longa e sinuosa para o seu Outro Lugar particular, as mãos relaxaram, o livro escapuliu dos dedos. Escorregou para a beira da poltrona e caiu no chão. Todo o som, exceto um sussurro mínimo, foi absorvido pelo teto e pelas paredes especiais. Ela nem percebeu que largara o livro, e permaneceu imóvel.
— Sou sua guardiã — repetiu Chyna, vagamente surpresa com a escolha das palavras.
Temia mais por Ariel do que por si mesma, e seu coração batia ainda mais depressa do que antes.
— Sua guardiã.
Lágrimas quentes turvaram a visão de Chyna, lágrimas incapacitantes, uma indulgência que ela não podia permitir. Piscou, furiosa, até os olhos ficarem secos, a visão desanuviada.
Chyna virou-se de costas para a porta interna e foi abrir a externa, com um gesto de raiva.
Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá...
Ao sair do vestíbulo à prova de som para a primeira câmara no porão, o barulho do cano parecia mais alto do que conseguia se lembrar.
Tá-tá-tá-tá-tá...
Talvez um minuto tivesse transcorrido desde que ele puxara o painel na porta interna. O filho da puta anormal continuava debaixo do chuveiro, nu e indefeso. E agora que sabia onde Ariel se encontrava, Chyna não tinha mais que se preocupar com a necessidade de a polícia interrogá-lo para descobrir o paradeiro da garota.
O revólver em sua mão proporcionava uma sensação agradável.
Uma sensação maravilhosa.
Se pudesse libertar Ariel e escapar dali, teria feito isso, em vez de assumir a opção violenta. Mas não tinha a chave, e não seria fácil arrombar aquela porta interna.
Tá-tá-tá...
Só tinha uma opção. Ela se encaminhou para a escada.
O aço azulado faiscando em sua mão.
Mesmo que ele terminasse de tomar banho e fechasse o chuveiro antes que Chyna pudesse alcançá-lo, ainda estaria nu e indefeso, enxugando-se. Ela entraria no banheiro e abriria fogo à queima-roupa, esvaziaria o revólver nele, o primeiro tiro na porra do seu coração, depois pelo menos um na cara, para ter certeza de que o liquidara. Não correria riscos. Absolutamente nenhum. Usaria todas a balas, apertaria o gatilho até que o cão batesse em vão no percussor, o tambor vazio. Podia fazer isso. Mataria o filho da puta doido, mataria muitas e muitas vezes, até que ele permanecesse morto para sempre. Podia fazer isso...e faria.
Ela subiu a escada, pisando nas pegadas úmidas que deixara ao descer: Chyna Shepherd não mais se escondendo, subindo e saindo daquele buraco, incólume, viva, deixando Narnia para sempre.
Tá-tá-tá-tá-tá...
Pensando adiante enquanto subia, Chyna se perguntou se deveria atirar nele através da cortina do chuveiro — se fosse mesmo uma cortina, em vez de uma porta transparente —, porque se não o fizesse teria de segurar o revólver com uma das mãos apenas, enquanto usava a outra para puxar a cortina ou empurrar a porta. Seria arriscado, porque uma estranha e aterradora fraqueza se insinuava ao longo de seus dedos e pulsos. Os braços tremiam tanto que já tinha de segurar a arma com as duas mãos, para não deixá-la cair.
O coração batendo forte como o cano de cobre, apavorada com a confrontação iminente, mesmo o desgraçado estando nu e indefeso, Chyna alcançou o patamar superior e passou para a lavanderia.
Não poderia atirar nele através da cortina, porque assim não saberia se o acertara. Estaria atirando às cegas, incapaz de mirar o peito ou a cabeça.
Passou pela secadora e a máquina de lavar, chegou à porta aberta da cozinha. Ao atravessá-la, registrou tardiamente a coisa importante que vira no patamar no alto da escada do porão: pegadas molhadas maiores que as suas, onde ele se postara apenas um momento antes.
Chyna já entrava na cozinha, com demasiado impulso para parar de repente, e o assassino veio da direita, do lado da pequena mesa de jantar. Era grande e forte, um rolo compressor, nem nu nem indefeso, o chuveiro uma artimanha desde o início.
Ele foi rápido, mas Chyna foi um pouco mais. O assassino tentou empurrá-la para trás, jogá-la contra os armários, mas ela se esquivou, erguendo o revólver, o cano a um metro do rosto dele, e puxou o gatilho. Houve um som seco quando o cão bateu numa câmara vazia.
Chyna recuou para o lado da geladeira, derrubando o calendário com fotos de gatinhos e lírios que bateu no chão perto de seus pés.
O assassino ainda avançava contra ela.
Ela tornou a apertar o gatilho, houve outro estalido seco, o que não fazia sentido — merda! —, porque o empregado no posto de gasolina não tivera a chance de disparar antes de ser estraçalhado pela escopeta. Não deveria estar faltando nenhuma bala.
Aquela era a primeira que ela via o rosto do assassino. Antes, sempre vislumbrara a parte posterior da cabeça, o topo do crânio e o perfil, mas a distância. Ele era bonito, com olhos azuis que faziam um atraente contraste com os cabelos escuros — não havia sinal de loucura nos olhos claros —, feições amplas e lisas, um sorriso simpático.
Avançou contra ela, enquanto Chyna apertava o gatilho pela terceira vez, acertando de novo uma câmara vazia. Sorrindo, ele arrancou o revólver de sua mão com tanta força que Chyna pensou que seu dedo tivesse se quebrado antes de sair da proteção do gatilho, e ela soltou um grito de dor. O assassino recuou, segurando a arma, os olhos faiscando de excitação.
— Mas que emoção!
Ela encolheu-se contra o lado da geladeira, pisando nos gatinhos.
— Eu sabia que era a mesma arma — disse ele —, mas o que teria acontecido se estivesse enganado? Teria agora um enorme buraco no rosto, não é mesmo, minha jovem?
Fraca e tonta de terror, ela olhou em volta, procurando desesperadamente alguma coisa que pudesse ser usada como arma, mas não havia nada que pudesse alcançar.
— Um enorme buraco no rosto — repetiu ele, como se achasse divertida essa perspectiva.
Um dos armários devia ter facas, mas ela não sabia que gaveta abrir para verificar. — Intenso — acrescentou o assassino, sorrindo, com o revólver na mão.
Havia uma pistola no balcão da cozinha, ao lado da pia, além do alcance de Chyna. Não dava para acreditar. Ele trouxera sua arma, mas não a usara, deixara-a de lado e avançara contra ela desarmado.
— Você é uma mulher atraente.
Chyna desviou os olhos da pistola, torcendo para que ele não tivesse percebido que a notara. Mas estava se iludindo e sabia disso, porque o assassino reparava em tudo, mas tudo mesmo.
Ele apontou o revólver para ela.
— Você estava no posto de gasolina na noite passada.
Ela ofegava para respirar, mas parecia que não conseguia absorver o ar. A respiração era muito rápida e superficial, havia o risco de desmaiar, e ela estava furiosa consigo mesma, porque o assassino continuava muito calmo.
— Sei que você estava lá, de alguma forma, em algum lugar, e sei que encontrou este Chief´s Special depois que fui embora, mas não posso entender, por minha vida, o que a trouxe até aqui.
Talvez ela conseguisse pegar a pistola antes que o assassino pudesse detê-la. Era uma chance em um milhão. Ou melhor, em dois ou três milhões. Ora, enfrentemos o fato, é impossível.
A um metro e meio de distância, apontando o revólver para o nariz de Chyna, a voz borbulhando de excitação, o assassino disse:
— Mas embora eu soubesse que era a arma do oriental, estava enfiando a cabeça na boca do dragão. Tive sorte. E você?
Embora fosse provavelmente impossível alcançar a pistola, ela não tinha alternativa. Nada a perder. Com um tom de impaciência, ele acrescentou:
— Preste atenção, meu bem, por favor. Estou falando com você. Sente-se com sorte neste momento? Tanta sorte quanto eu tive?
Tentando não olhar para a pistola, relutando em fitar aqueles olhos normais demais, ela se fixou no cano do revólver e conseguiu dizer:
— Não.
Parecia ouvir essa única palavra ecoando de volta do cano virado em sua direção, Não.
— Vamos ver se tem,
— Não.
— Ora, meu bem, seja aventureira. Vamos ver se tem sorte.
Ele puxou o gatilho. Embora já tivesse acionado a arma três vezes, Chyna esperou que explodisse em seu rosto, porque parecia ser assim que a sorte funcionava para seu lado. Clique.
— Você tem sorte mesmo, até mais do que eu.
Chyna não sabia do que ele falava. Não conseguia focalizar seus pensamentos em nada além da pistola ao lado da pia, aquela última chance milagrosa.
— Quando Fuji me apontou este revólver — disse o assassino — não ouviu o que prometi a ele?
Toda aquela conversa e o comportamento tranqüilo do miserável deixaram Chyna ainda mais nervosa. Esperava que ele a baleasse, cortasse, espancasse, estuprasse, que a torturasse para arrancar dela respostas antes ou depois, mas não esperava ter de conversar, como se tivessem acabado de chegar de uma pequena viagem, férias partilhadas com alguns acontecimentos interessantes. Ainda apontando o revólver para ela, o assassino acrescentou:
— O que eu disse a Fuji foi o seguinte: "Não faça isso ou encherei seu rabo de balas". Sempre cumpro minhas promessas. Você não?
As palavras finalmente atraíram a atenção de Chyna.
— Com tão pouca claridade, sangue por toda parte, não querendo olhar, nauseada, é bem provável que não tenha percebido que Fuji estava com a calça arriada.
Ele tinha razão. Depois que um olhar revelara que os dois homens haviam morrido, ela desviara os olhos e contornara os corpos. — Consegui enfiar quatro balas nele.
Ela fechou os olhos. Tornou a abri-los no mesmo instante. Não queria vê-lo, enorme e bonito, com seu sorriso simpático, manchas de sangue nas roupas, sem nada de perturbador nos olhos. Mas não ousava desviar a vista.
Chyna. Shepherd, incólume e viva.
— Enfiei quatro balas nele, mas depois começaram a sair. Uma pequena liberação de gás pós-morte. Foi cômico, dava para rir, mas eu tinha pressa, como pode compreender, e dava muito trabalho meter a quinta.
Talvez fosse melhor assim. Talvez mais uma rodada de roleta russa, depois a paz, não mais tentar compreender por que havia tanta crueldade no mundo quando a bondade era a opção mais fácil.
— Esta é uma arma de cinco tiros, minha jovem.
O cano do revólver apontava para ela, e Chyna especulou se veria o clarão e ouviria o estrondo, ou se a escuridão no cano se tornaria sua própria escuridão, sem qualquer percepção da mudança.
Mas o assassino desviou o revólver dela e puxou o gatilho. A explosão sacudiu as janelas e a bala atingiu a porta de um armário na parede mais próxima, provocando uma chuva de lascas de pinho e quebrando os pratos lá dentro.
Fragmentos de madeira ainda voavam quando Chyna pegou uma gaveta e arrancou-a do armário. Era tão pesada que quase deslocou sua mão, mas o desespero a tornara subitamente forte. Arremessou-a contra a cabeça do assassino, o conteúdo se derramando enquanto descrevia um arco na direção de sua testa.
Colheres, garfos e facas duelaram no ar, faiscando em reflexos fluorescentes, atingindo-o e caindo pelo chão de ladrilhos. Ele recuou, aturdido, esbarrou na pequena mesa de jantar.
Mesmo enquanto o assassino cambaleava, surpreso, Chyna já avançava para a pia. Um instante depois de ouvir a gaveta vazia se chocar contra alguma coisa, ela pôs a mão na coronha da pistola. Viu um ponto vermelho no aço, que devia ficar à mostra quando se soltava a trava de segurança, como acontecia com outras pistolas que ela conhecia. Não tinha de se preocupar com câmaras vazias, ao contrário do revólver, pois mesmo que houvesse uma só bala no pente, apenas uma, estaria na culatra, por favor, e de tão perto assim um tiro podia ser tudo de que ela precisaria.
Mas seu dedo indicador já começava a ficar rígido e inchado, e quando tentou enfiá-lo pela proteção do gatilho foi sacudida por uma tremenda pontada de dor. Uma náusea terrível a envolveu e ela, cambaleou, enquanto tentava ajeitar o dedo do meio no gatilho.
Deslizando os pés pelo chão cheio de talheres, fazendo o maior barulho, o assassino alcançou Chyna antes que ela pudesse levantar a arma e se virar.
Num reflexo, seu dedo puxou o gatilho. A bala atingiu o painel por cima da pia. Fragmentos de ladrilho amarelo voaram para o rosto de Chyna, que poderia ter ficado cega se não tivesse fechado os olhos a tempo.
Ele bateu com a base da mão no lado da cabeça de Chyna, causando uma rajada de escuridão em seus olhos, como se fossem cacos de um vidro preto explodindo; e em seguida golpeou sua nuca com o punho.
Sem lembrar de ter caído, Chyna se viu no chão da cozinha, olhando aturdida por entre os ladrilhos de vinil para um tumulto cataclísmico de utensílios de cozinha. Interessante. As colheres eram do tamanho de pás. Os garfos, grandes como forcados. As facas eram lanças.
As botas do assassino. Botas pretas. Em movimento.
Por um instante, ela ficou confusa, pensando que estava de volta à casa dos Templeton no vale de Napa, escondida debaixo da cama no quarto de hóspedes. Mas não havia talheres espalhados pelo chão do quarto, e sua cabeça se desanuviou quando tornou a focalizá-los.
— Agora terei de lavar tudo antes de guardar — comentou o assassino. Ele circulava pela cozinha, recolhendo os talheres; metódico em tudo, juntava colheres com colheres, facas com facas.
Chyna surpreendeu-se ao descobrir que conseguia mover o braço, que estava pesado como um enorme galho de árvore, uma árvore petrificada, outrora madeira, mas agora pedra. Mesmo assim, conseguiu apontar para o assassino e até dobrar o latejante dedo indicador, engolindo a dor e o gosto amargo que a acompanhava.
A arma não disparou.
Ela apertou o gatilho de novo, e ainda não houve explosão. Só então percebeu que estava de mãos vazias. Não empunhava mais a pistola.
Estranho.
Uma das facas estava perto de sua mão. Era uma faca de mesa, com o gume serrilhado, apropriada para passar manteiga ou cortar uma galinha bem cozida em pequenos pedaços, mas nada ideal para apunhalar alguém até a morte. No entanto, uma faca era uma faca, melhor do que nenhuma arma, e ela tratou de pegá-la.
Agora, tudo o que tinha de fazer era encontrar forças para se levantar do chão. Curiosamente, porém, não conseguiu sequer levantar a cabeça. Nunca se sentira tão cansada antes.
Fora golpeada com toda a força na nuca. Talvez tivesse sofrido alguma lesão na coluna.
Recusou-se a chorar. Tinha a faca.
O assassino aproximou-se dela, abaixou-se, tirou a faca de sua mão. Chyna espantou-se pela facilidade com que escapuliu de seus dedos, embora a apertasse com toda a força, como se nem fosse uma faca, mas uma lasca de gelo derretendo.
— Menina levada— murmurou ele, batendo com a lâmina na cabeça
de Chyna.
Ele continuou com a limpeza.
Enquanto tentava não pensar em lesões na coluna, Chyna conseguiu pôr a mão num garfo. Ele virou-se e tirou-o também.
— Não — disse ele, como se estivesse treinando um cachorrinho teimoso. — Não.
— Filho da puta — murmurou Chyna, consternada ao ouvir sua voz engrolada.
— Não devia falar assim.
— Filho da puta escroto.
— Muito bonito — disse ele, desdenhoso.
— Seu merda.
— Eu deveria lavar sua boca com sabão.
— Puto.
— Sua mãe nunca lhe ensinou palavrões.
— Não conhece minha mãe — disse ela, asperamente.
Ele atingiu-a novamente, dessa vez um golpe rápido e forte no lado do pescoço.
Chyna mergulhou na escuridão, escutando preocupada a risada alegre e distante da mãe, as vozes de homens que não conhecia. Vidro quebrando. Insultos. Vento e trovoada. Palmeiras sacudidas na noite de Key West. A risada mudou. Zombeteira agora. Estrondos que não eram trovoadas. E o besouro de palmito se arrastando por suas pernas, pelas costas. Outros tempos. Outros lugares. No reino nebuloso dos sonhos, o punho de ferro da memória.
Pouco depois das nove horas da manhã, assim que acabou de cuidar da mulher e lavar os talheres, Mr. Vess solta os cachorros.
Na porta dos fundos, na porta da frente e em seu quarto há botões de uma campainha que toca no canil por trás do galpão. Quando os dobermans são despachados para lá com a palavra berço, a campainha é uma ordem para que retornem imediatamente à patrulha ativa.
Ele usa o botão ao lado da porta da cozinha, e depois vai até a janela grande junto à mesa de jantar para observar o quintal dos fundos.
O céu está baixo e cinzento, encobrindo as montanhas Siskiyou, mas parou de chover. Os galhos pendendo das árvores de folhagem permanente gotejam. A casca das árvores que perdem as folhas está preta e encharcada; seus galhos — alguns com os primeiros e frágeis botões verdes da primavera, outros ainda estéreis — são tão pretos que parecem chamuscados.
Algumas pessoas podem pensar que a cena é calma agora, já que os raios e as trovoadas cessaram, mas Mr. Vess sabe que a tempestade é tão poderosa em suas conseqüências quanto no auge de sua fúria. Ele se mantém em harmonia com esse novo tipo de poder, o poder inerte do crescimento que a água proporciona à terra.
Os dobermans saem de trás do galpão. Adiantam-se lado a lado por um momento, mas depois se separam e cada um segue seu rumo.
Não estão em posição de ataque agora. Perseguirão e deterão qualquer intruso, mas não o matarão. A fim de prepará-los para o sangue, Mr. Vess deve dizer o nome Nietzche.
Um dos cães — Liederkranz — vem até a varanda dos fundos e olha pela janela, adorando seu dono. Abana o rabo uma vez, depois outra, porém está de serviço, e essa breve e contida manifestação de afeto é tudo o que se permitirá.
Liederkranz retorna ao quintal dos fundos. Fica de pé, vigilante. Olha primeiro para o sul, depois para oeste e leste. Baixa a cabeça, fareja a relva molhada e acaba se afastando pelo gramado, sempre farejando. As orelhas se comprimem contra o crânio quando se concentra num cheiro, verificando alguma coisa que imagina que possa ser uma ameaça a seu dono.
Em algumas ocasiões, como recompensa aos dobermans e para mantê-los em forma, Mr. Vess solta uma cativa e permite que os cães a persigam, renunciando ao prazer de matar pessoalmente. É um espetáculo divertido.
Seguro sob a proteção de sua guarda pretoriana de quatro patas, Mr. Vess sobe para o banheiro e ajusta a água do chuveiro até ficar quente como gosta. Baixa o volume do rádio, mas deixa-o ligado no programa de música.
Enquanto tira as roupas sujas, nuvens de vapor sobem de trás da cortina do chuveiro. A umidade acentua a fragrância das manchas escuras em seus trajes. Nu, ele fica parado por uns poucos minutos, o rosto comprimido contra o jeans, a camiseta, o casaco de brim, aspirando profundamente a princípio, mas depois sentindo com delicadeza as refinadas nuanças de odor, uma após a outra, desejando que seu olfato fosse vinte mil vezes mais intenso do que é, como o de um doberman.
Não obstante, os aromas o transportam para a noite que acabou de viver. Ouve de novo o estalido do silenciador na pistola, os gritos abafados de terror e as estridentes súplicas de misericórdia na noite calma na casa dos Templeton. Sente o cheiro da loção de corpo com fragrância de lilás de Mrs. Templeton, que ela aplicara na pele antes de se deitar, a fragrância do sachê na gaveta de lingerie de sua filha. Saboreia, na memória, a aranha.
Com pesar, larga as roupas de lado para serem lavadas, porque esta noite deve passar pelo homem comum que não é, e essa licantropia às avessas exige tempo, se pretende que a transformação seja convincente.
Portanto, enquanto Benny Goodman toca One o´clock jump, Mr. Vess entra sob a água muito quente. Usa vigorosamente a esponja e o sabonete Irish Spring, lavando os odores demasiadamente pungentes de sexo e morte, que podem alarmar as ovelhas. Nunca devem desconfiar que o pastor tem um focinho de dentes tortos e uma cauda peluda dentro de seu disfarce. Sem pressa, cantarolando uma música após outra, ele passa xampu duas vezes nos cabelos abundantes e depois usa um condicionador perfumado. Utiliza uma escovinha para limpar por baixo das unhas. É um homem de proporções perfeitas, esguio mas musculoso. Como sempre, encontra imenso prazer em se ensaboar, apreciando os contornos esculpidos do corpo sob as mãos escorregadias; sente a música e o cheiro do sabonete, como o gosto de creme doce.
A vida é. E Vess vive.
Chyna saiu da escuridão de Key West e da tempestade tropical para um clarão fluorescente que fez doer seus olhos .turvos. A princípio interpretou errado o medo que fazia seu coração disparar, como se fosse o medo de Jim Woltz, o amigo de sua mãe; pensou que seu rosto se comprimia contra o chão por baixo da cama, no chalé da praia. Mas depois lembrou-se do assassino e da garota prisioneira.
Estava sentada numa cadeira, inclinada para a frente, sobre a mesa de jantar redonda ao lado da cozinha. Tinha a cabeça virada para a direita, olhava por uma janela para a varanda e o quintal dos fundos.
O assassino tirara a almofada de uma das outras cadeiras e a ajeitara sob sua cabeça, a fim de que seu rosto não se comprimisse desconfortavelmente contra a madeira. Ela estremeceu por essa consideração.
Ao tentar erguer a cabeça, a dor irradiou-se pela nuca e latejou no lado direito do rosto. Quase desmaiou, e concluiu que era melhor não se precipitar.
Quando mudou de posição na cadeira, o retinido de correntes indicou que levantar-se podia não ser uma opção, nem agora nem mais tarde. Tinha as mãos no colo; ao levantar uma delas, a outra veio junto, pois fora algemada.
Tentou separar os pés e descobriu que estava com os tornozelos acorrentados. A julgar pelo barulho que os menores movimentos geravam, havia outros empecilhos.
Lá fora, algo preto como fuligem atravessou o gramado verde, subiu os degraus e atravessou a varanda. Veio até a janela, pulou, pôs as patas no peitoril e fitou-a. Um doberman.
Ariel comprime contra os seios um livro aberto, com se fosse um escudo, as mãos abertas sobre as capas. Está sentada numa enorme poltrona, as pernas dobradas por baixo do corpo, a única boneca perfeita entre todas aquelas no quarto.
Mr. Vess senta-se num banquinho diante dela.
Está muito bem arrumado. Tomou banho, passou xampu, fez.a barba e penteou os cabelos, e estaria apresentável para qualquer pessoa. Uma mãe que o visse com sua filha nos braços o julgaria um ótimo partido. Usa mocassins sem meias, calça bege de algodão, cinto de couro trançado e uma camisa verde-clara de cambraia.
Ariel também está muito bem em seu uniforme de colegial. Vess fica satisfeito ao constatar que ela se arrumou regularmente durante sua ausência, como fora instruída. Não é fácil para ela, só tomar banhos de esponja e lavar os magníficos cabelos na pia.
Construíra aquele quarto para outras que vieram antes dela, nenhuma das quais vivera ali por mais de dois meses. Até conhecer sua Ariel e descobrir seu fascinante espírito independente, nunca imaginou que insistiria para que alguém ficasse ali por tanto tempo. Por isso, um chuveiro não pareceu necessário.
Vira a garota pela primeira vez numa fotografia de jornal. Embora ainda estivesse no colegial, era uma espécie de prodígio e liderara a equipe de sua escola secundária em Sacramento à vitória num decatlo estadual acadêmico na Califórnia. Ela parecia muito terna. O jornal tremeu em suas mãos quando a viu, e compreendeu no mesmo instante que precisava ir a Sacramento para conhecê-la. Matou o pai a tiros. A mãe possuía uma enorme coleção de bonecas, e também as fabricava como hobby. Vess a espancou até a morte com um boneco de ventríloquo que tinha uma cabeça grande esculpida em madeira, eficiente como um bastão de beisebol.
— Está mais linda do que nunca — diz ele a Ariel.
Sua voz é abafada pelo material isolante, como se estivesse falando do interior de um caixão, enterrado vivo.
Ela não responde, sequer dá sinais de perceber sua presença. Está em seu silêncio habitual, é como tem estado há mais de seis meses.
— Senti saudades.
Hoje em dia ela nunca olha para ele, mas para um ponto acima de sua cabeça e um pouco ao lado. Se Vess se levantasse e se postasse em sua linha de visão, ainda assim ela continuaria a olhar por cima de sua cabeça e para o lado, embora ele nunca a percebesse desviando os olhos para evitá-lo.
— Trouxe algumas coisas para lhe mostrar.
Ele tira duas fotografias Polaroid de uma caixa de sapato no chão, ao lado do banco. Ela não vai pegá-las, não vai baixar os olhos para vê-las, mas Vess sabe que examinará aqueles souvenirs após sua saída.
Ela não está tão perdida deste mundo como simula. Empenham-se num jogo complicado, de apostas altas, e ela é uma boa jogadora.
— Esta primeira foto é de uma mulher chamada Sarah Templeton, como ela era antes de eu a pegar. Tinha quarenta e poucos anos, mas ainda era muito atraente. Uma mulher adorável.
A poltrona é tão larga que a almofada se projeta além de Ariel, deixando um espaço vazio onde Vess pode pôr a foto.
— Adorável — repete ele.
Ariel não pisca. É capaz de olhar fixamente sem piscar por longos períodos, um feito surpreendente. De vez em quando Mr. Vess se preocupa que ela cause algum dano a seus esplêndidos olhos azuis; afinal, as córneas exigem lubrificação constante. Mas se ela ficar muito tempo sem piscar e os olhos ficarem perigosamente secos, a irritação fará com que lágrimas aflorem, mesmo contra a sua vontade.
— Esta é uma segunda foto de Sarah depois que acabei com ela — continua Mr. Vess, pondo a nova foto na poltrona. — Como poderá verificar, se quiser olhar, a palavra 'adorável' não se aplica mais. A beleza nunca dura. As coisas mudam. Ele tira mais duas fotos da caixa de sapato.
— Esta é a filha de Sarah, Laura. Antes. E depois. Pode ver que ela era linda. Como uma borboleta. Mas sabe que há uma lagarta em cada borboleta.
Vess larga as duas fotos na poltrona, torna a estender a mão para a caixa de sapato.
— Este era o pai de Laura. Ah, e aqui o irmão... e a esposa do irmão. Eu os peguei por acaso.
Finalmente ele tira as três Polaroids do jovem oriental e o Slim Jim com um pedaço mordido.
— O nome dele é Fuji. Como a montanha do Japão. Vess põe as fotos na poltrona.
— Ficarei com uma. Para comer. E assim serei Fuji, com o poder do Oriente e o poder da montanha. Quando chegar o momento em que cuidarei de você, vai sentir tanto o rapaz quanto a montanha em mim, assim como muitas outras pessoas, todo o poder que me legaram. Será muito excitante para você, Ariel, tão emocionante que nem vai se importar de estar morta.
Esse é um longo discurso para Mr. Vess. De modo geral, não é um homem loquaz. A beleza da moça, no entanto, o leva de vez em quando a discursar.
Ele segura o Slim Jim.
— O pedaço que falta foi comido por Fuji pouco antes de morrer. Sua saliva deve ter secado no salame. Você pode saborear um pouco da força que ele tinha, sua natureza inescrutável.
Ele larga o salame embrulhado na poltrona.
— Voltarei após a meia-noite — promete Mr. Vess. — Iremos para o trailer, para que você possa ver Laura, a verdadeira Laura, não apenas uma foto. Eu a trouxe para que você possa verificar o que acontece com todas as coisas bonitas. E há também um rapaz, um carona que peguei no caminho. Mostrei a ele uma foto sua, e não gostei da maneira como a olhou. Ele não foi respeitoso. Olhou com maldade. Não gostei de um comentário que ele fez sobre você, e por isso costurei sua boca. Também costurei os olhos, por causa da maneira como ele olhou para sua foto. Ficará excitada ao ver o que fiz com ele. Poderá tocá-lo... e a Laura também.
Vess observa atentamente, à procura de qualquer tique, tremor, arrepio ou sutil mudança nos olhos, mas Ariel é esperta e mantém uma expressão solene, uma farsa de desligamento catatônico.
Se puder forçá-la a um arrepio, um tique, então em breve a destruirá por completo e a deixará uivando como uma paciente de olhos esbugalhados em uma sombria enfermaria de manicômio. Essa alteração para a insanidade descontrolada é sempre fascinante de observar.
Mas ela é resistente, aquela garota, com surpreendentes recursos interiores. Ótimo. O desafio o excita.
— E do trailer iremos para a campina com os cães, Ariel, e poderá observar enquanto enterro Laura e o carona. Talvez o céu clareie até lá, talvez haja estrelas ou até mesmo luar.
Ariel se encolhe na poltrona com o livro, os olhos distantes, os lábios entreabertos, uma garota em total imobilidade.
— Ei, comprei outra boneca para você. Numa lojinha interessante em Napa, Califórnia, um lugar que vende os trabalhos de artesãos locais. Uma bonita boneca de pano. Tenho certeza de que vai gostar. Eu a darei mais tarde.
Mr. Vess levanta-se e faz um inventário casual do conteúdo da geladeira e do armário que serve de despensa para a garota. Ela tem suprimentos suficientes para mais três dias, e Mr. Vess vai reabastecê-lo amanhã.
— Não está comendo tanto quanto deveria — adverte ele. — É ingratidão de sua parte. Providenciei uma geladeira, um microondas, água quente e fria. Tem tudo o que precisa para cuidar de si mesma. Precisa comer.
As bonecas não são mais apáticas que a garota.
— Perdeu um ou dois quilos. Ainda não afetou sua aparência, mas não pode emagrecer mais.
Ela olha para o espaço, como se esperasse que um botão fosse apertado para ela começar a recitar as mensagens gravadas.
— Não pense que pode passar fome até ficar pálida e feia. Não pode escapar de mim assim, Ariel. Eu a amarrarei e alimentarei, se for necessário. Eu a farei engolir um tubo de borracha e despejarei comida de bebê direto em seu estômago. Para ser franco, eu até gostaria disso. Gosta de purê de ervilha? Cenouras? Molho de maçã? Acho que não faz diferença, já que não sentirá o gosto — a menos que vomite.
Mr. Vess contempla os cabelos sedosos, de um tom louro-avermelhado àquela luz. Essa visão é transmitida a todos os cinco extraordinários sentidos de Vess, que fica envolvido pelo esplendor sensorial daqueles cabelos, por todos os sons, cheiros e texturas que o olhar lhe transmite. Um estímulo tem tantas associações para ele que pode se perder por horas na contemplação de um único fio de cabelo ou uma gota de chuva, se assim decidir, porque essa pequena coisa se tornaria um mundo inteiro de sensações.
Ele vai até a poltrona, pára diante da garota.
Ariel não parece notar sua presença. Embora ele tenha se postado em sua linha de visão, o olhar dela se deslocou de alguma forma para cima e para o lado, sem que ele percebesse o momento em que isso aconteceu.
Ela se mostra magicamente evasiva.
— Talvez eu pudesse arrancar uma ou outra palavra sua se ateasse fogo em você. O que acha da idéia? Hein? Um pouco de fluido de isqueiro nesses cabelos dourados e pronto!
Ariel não pisca.
— Ou posso entregá-la aos cachorros, se isso soltar sua língua. Nenhum arrepio, nenhum tique, nenhum tremor. Que garota!
Mr. Vess se inclina, baixando o rosto na direção de Ariel, até ficarem cara a cara.
Os olhos de Ariel estão agora diretamente alinhados com os dele, e mesmo assim ela não o fita. Parece olhar através dele, como se não fosse um homem de carne e osso, mas um espírito persistente que ela não consegue perceber direito. Não é apenas o velho truque de deixar os olhos desfocados; é uma artimanha muito mais inteligente, que ele não consegue entender. Nariz contra nariz, Vess sussurra:
— Vamos para a campina depois de meia-noite. Enterrarei Laura e o carona. Talvez eu a ponha na terra junto com eles e a cubra, três na mesma cova. Eles mortos e você viva. Falaria então, Ariel? Diria por favor?
Não há resposta.
Ele espera.
A respiração da garota é baixa e regular. Ele se mantém tão perto que as exalações são quentes e firmes contra seus lábios, como promessas de beijos.
Ariel deve sentir também a respiração dele.
Talvez ela sinta medo e até repulsa, mas também se sente atraída por ele. Vess não tem a menor dúvida quanto a isso. Todo mundo é fascinado por bad boys.
— Talvez haja estrelas — acrescenta ele.
Aquele azul nos olhos de Ariel, aquelas profundezas cintilantes...
— Ou até mesmo luar — sussurra ele.
As argolas de aço nos tornozelos de Chyna eram unidas por uma grossa corrente. Outra corrente, mais comprida, presa por um cadeado à primeira, contornava as grossas pernas da cadeira, passava entre as barras que as uniam, contornava o grande barril que sustentava a mesa redonda e voltava ao cadeado. As correntes não lhe davam nenhuma margem para se levantar. Mesmo que conseguisse ficar de pé, teria de carregar a cadeira nas costas, e o formato e peso a obrigariam a andar encurvada, como um duende corcunda. E mesmo de pé, não conseguiria se afastar da mesa a que estava acorrentada.
Tinha as mãos algemadas na frente. Havia uma corrente presa na argola do pulso direito. Essa corrente a contornava, passava por trás do encosto da cadeira e voltava a se prender no pulso esquerdo. Nessa corrente não havia folga que lhe permitisse apoiar os braços na mesa, se desejasse.
Sentava-se com as mãos cruzadas, inclinada para a frente, olhando para o dedo indicador vermelho e inchado na mão direita, esperando.
O dedo latejava, ela tinha dor de cabeça, mas a dor no pescoço diminuíra. Sabia que ela voltaria pior do que nunca dentro de vinte e quatro horas, como se sentisse a agonia retardada de uma chicotada.
Claro, se ainda estivesse viva daqui a vinte e quatro horas, a dor no pescoço seria a menor de suas preocupações.
O doberman não estava mais na janela. Ela avistara dois ao mesmo tempo no gramado, farejando a relva e o ar, parando de vez em quando para levantar as orelhas e escutar com toda atenção, para depois se afastarem, obviamente montando guarda.
Durante a noite anterior, Chyna usara a raiva para superar o terror antes que este a imobilizasse, mas agora descobria que a humilhação era ainda mais eficaz para subjugar o medo. Ter sido incapaz de se defender, acabar ferida e presa — essa não era a origem de sua mortificação; o que mais a mortificava era seu fracasso na promessa que fizera à garota do porão. Sou sua guardiã. Eu a manterei segura.
Ela voltava sempre, na memória, ao vestíbulo acolchoado e à janelinha na porta interna. A garota entre as bonecas não dera nenhuma indicação de que ouvira a promessa. Mas Chyna desesperava-se com a certeza de que provocara falsas esperanças; a garota se sentiria traída e mais abandonada do que nunca, retirando-se ainda mais para o seu Outro Lugar.
Sou sua guardiã.
Ao pensar nisso, Chyna considerou sua arrogância não apenas espantosa, mas distorcida, uma ilusão. Em vinte e seis anos de vida, nunca salvara ninguém, em nenhum sentido. Não era heroína, não era uma personagem de série de mistério com uma pitada pitoresca de ansiedade e a insinuação de fascinantes falhas de caráter, possuindo, além disso, a competência de Sherlock Holmes e James Bond combinados. Manter-se viva, com estabilidade mental e emocional intactas, fora uma tremenda luta para ela. Ainda era também uma garota perdida, tateando às cegas ao longo dos anos à procura de alguma percepção ou resolução que provavelmente sequer existia para ser encontrada, mas mesmo assim ela fora até aquela porta e prometera libertação.
Sou sua guardiã.
Ela descruzou as mãos. Comprimiu-as contra a mesa, deslizou-as sobre a madeira, como se alisasse rugas numa toalha. As correntes retiniram ao movimento.
Afinal de contas, não era uma guerreira, não era o paladino de ninguém; trabalhava como garçonete. Era boa nisso, acumulando gorjetas, porque os dezesseis anos vividos no mundo distorcido de sua mãe lhe ensinaram que o único meio de garantir a sobrevivência era ser insinuante. Com seus fregueses, era sempre encantadora, sempre simpática, sempre ansiosa em agradar. O relacionamento entre o freguês e uma garçonete era, na sua maneira de pensar, o relacionamento 'ideal', porque era breve, formal, em geral conduzido com um alto grau de educação, não exigindo que exibisse seus sentimentos.
Sou sua guardiã.
Na determinação obsessiva de se proteger a qualquer custo, ela era sempre cordial com as outras garçonetes onde trabalhava, mas nunca fizera amizade com nenhuma. Aprendera a não se fazer vulnerável à mágoa e à traição, as conseqüências de um compromisso.
Ao longo dos anos, ela tivera romances com apenas dois homens. Gostara de ambos e amara o segundo, mas o primeiro relacionamento durara onze meses e o outro apenas treze. Romances, se valessem a pena, exigiam mais que um simples compromisso; precisavam de revelação, partilha, o vínculo da intimidade emocional. Tinha dificuldade em revelar coisas sobre a infância e sua mãe, em parte porque se sentia embaraçada por seu total desamparo durante aqueles anos. Mais ainda, chegara à difícil conclusão de que a mãe nunca a amara realmente, talvez porque nunca fora capaz de amar ninguém. E como poderia esperar ser amada por algum homem que soubesse que ela não tivera o amor nem de sua mãe?
Tinha plena consciência de que sua atitude era irracional, mas isso não a libertava. Compreendia que não era responsável pelo que a mãe lhe fizera, mas ao contrário do que tantos terapeutas alegavam em seus livros e em entrevistas pelo rádio, a compreensão por si só não levava à cura. Mesmo depois de dez anos fora do controle da mãe, Chyna às vezes se convencia de que todos os acontecimentos sinistros daqueles anos conturbados poderiam ter sido evitados se tivesse sido uma menina melhor, mais merecedora.
Sou sua guardiã.
Ela tornou a cruzar as mãos sobre a mesa. Inclinou-se para a frente até encostar a testa nos polegares, fechou os olhos.
A única amiga íntima que tivera na vida fora Laura Templeton. O relacionamento entre elas era algo que queria demais, mas nunca havia procurado, necessitava desesperadamente dele, mas pouco fazia para alimentá-lo; era um verdadeiro testemunho da vivacidade, da perseverança e do altruísmo de Laura diante da cautela e reserva de Chyna, um resultado do coração afetuoso e da excepcional capacidade de Laura para amar. E agora Laura estava morta.
Sou sua guardiã.
No quarto de Laura, sob o olhar morto de Freud, Chyna ajoelhara-se ao lado da cama e sussurrara para a amiga acorrentada: "Vou tirá-la daqui". Ah, como doía pensar nisso! "Vou tirá-la daqui." Seu estômago se embrulhou, numa dor terrível, em auto-repulsa. "Encontrarei uma arma", ela prometera. Laura, imensamente generosa, exortara-a a fugir, a sair dali. "Não morra por mim", dissera Laura. Mas Chyna respondera: "Vou voltar".
Agora o pesar voltava, precipitando-se sobre seu coração como um enorme pássaro escuro, e quase deixou que as asas a envolvessem por completo, ansiosa pelo estranho conforto daquelas penas em movimento — até perceber que utilizava o pesar para afastar a humilhação. Se lamentasse, não haveria espaço para a auto-aversão.
Sou sua guardiã.
Embora o funcionário do posto não tivesse disparado o revólver, ela deveria tê-lo conferido. Devia saber disso. Por algum motivo. De algum modo. Mesmo sem saber o que Vess fizera com as balas, devia ter pensado nisso.
Laura sempre lhe disse que ela era muito dura consigo mesma, que ela nunca se curaria enquanto continuasse infligindo novas mágoas sobre as passadas, em uma interminável auto-flagelação.
Mas Laura estava morta.
Sou sua guardiã.
A humilhação de Chyna se deteriorou para a vergonha.
E se a humilhação era um bom instrumento para reprimir o terror, a vergonha era ainda melhor. Imersa na vergonha, não conhecia medo algum, embora estivesse acorrentada na casa de um assassino sádico, sem ninguém no mundo à sua procura. A justiça parecia cumprida por sua presença ali.
E foi então que ela ouviu passos se aproximando.
Ergueu a cabeça e abriu os olhos.
O assassino veio da lavanderia, obviamente voltando de uma visita à garota no porão.
Sem falar com Chyna, sem olhar em sua direção, como se ela não existisse, ele foi até a geladeira, tirou uma caixa de ovos e colocou-a no balcão, ao lado da pia. Quebrou oito ovos numa tigela, com extrema habilidade, e jogou as cascas no lixo. Guardou a tigela na geladeira e pôs-se a descascar e cortar uma cebola.
Chyna não comia há mais de doze horas, mesmo assim ficou consternada ao descobrir que estava faminta. A cebola tinha o aroma mais apetitoso que já sentira, e começou a sentir água na boca. Depois de tanto sangue, depois de perder a única amiga íntima que jamais tivera, parecia insensível ter fome assim tão cedo.
O assassino pôs a cebola cortada num pote Tupperware, fechou-o meticulosamente e guardou na geladeira, ao lado da tigela com os ovos. Em seguida ralou uma fatia de queijo cheddar em outro recipiente.
Era metódico e eficiente na cozinha, parecia gostar do que fazia. Mantinha sua área de trabalho limpa e arrumada. Também lavava as mãos com todo cuidado entre as tarefas e enxugava-as numa toalha de mão, não no pano de prato.
Finalmente o assassino foi até a mesa de jantar. Sentou-se na frente de Chyna, relaxado e confiante, vestido como um universitário com seus mocassins, cinto trançado e camisa de cambraia.
A vergonha, que parecia prestes a consumir Chyna, por enquanto se esvaíra. Uma estranha combinação de raiva intensa e desânimo amargo a substituíra.
— Agora — disse o assassino — tenho certeza de que está com fome, e depois que tivermos um conversinha farei uma omelete de queijo, com uma pilha de torradas. Mas para merecer seu desjejum, terá de me contar quem é, onde se escondeu no posto de gasolina e por que veio para cá. Ela fitou-o com uma expressão furiosa. Ele sorriu.
— Não pense que pode me negar as informações.
Chyna não tinha a menor intenção de dizer coisa alguma. :
— A situação é simples — continuou ele. — Eu a matarei de qualquer maneira. Ainda não sei como. Provavelmente na frente de Ariel. Ela já viu cadáveres antes, mas nunca esteve presente no momento da morte, para ouvir o último grito, com o sangue escorrendo.
Chyna tentou manter os olhos fixos nele sem demonstrar fraqueza.
— Farei com que a morte seja muito mais terrível para você se não quiser me falar de bom grado. Há coisas que me agradam que podem ser feitas antes ou depois que estiver morta. Coopere e eu as farei depois.
Chyna tentou em vão ver algum sinal de loucura naqueles olhos. Tinham uma alegre tonalidade de azul.
— E então?
— Você não passa de um filho da puta doente. Ele tornou a sorrir.
— A última coisa que eu esperava de você era que fosse chata.
— Sei por que costurou os olhos e a boca do rapaz.
— Ali, então encontrou-o no closet.
— Estuprou-o antes de matá-lo ou enquanto o matava. Costurou os olhos porque ele viu, costurou a boca porque sentiu vergonha do que fez e tinha medo que, mesmo morto, ele pudesse contar a alguém.
O assassino permaneceu impassível.
— Na verdade, não fiz sexo com ele.
— Mentiroso.
— Mas se tivesse feito, não ficaria embaraçado. Pensa que me falta sofisticação? Somos todos bissexuais, não acha? Tenho desejo por homens, às vezes, e já me satisfiz com alguns. É tudo sensação. Apenas sensação.
— Verme.
— Sei o que está tentando fazer — comentou ele amavelmente, obviamente divertindo-se com ela —, mas não vai funcionar, Espera que um insulto ou outro me desequilibre. Como se eu fosse algum psicopata sensível que pode explodir se chamado pelo nome certo, se insultar minha mãe ou disser coisas feias sobre o Senhor. Espera assim que eu a mate depressa, num acesso de raiva, acabando logo com a sua angústia.
Chyna compreendeu que ele tinha razão, embora antes não estivesse consciente de suas próprias intenções. O fracasso, a vergonha e a impotência de estar acorrentada haviam-na reduzido a um desespero do qual preferira não se lembrar. Agora, sentia-se mais nauseada por si mesma do que pelo homem, especulando se era, afinal de contas, uma covarde e perdedora, como sua mãe.
— Mas não sou psicopata — acrescentou ele.
— O que é, então?
— Ah... pode me chamar de aventureiro homicida. Ou talvez a única pessoa com o pensamento lúcido que já conheceu.
— 'Verme' me parece melhor. Ele inclinou-se para a frente.
— Eis a situação: ou você me diz tudo o que quero saber de você, ou trabalharei em seu rosto com uma faca enquanto está sentada aí. Para cada pergunta que se recusar a responder, tirarei um pedaço — o lóbulo de uma orelha, a ponta de seu lindo nariz. Vou retalhá-la toda, fazer uma escultura.
Ele não falou num tom ameaçador, mas casual, e Chyna compreendeu que o homem era mesmo capaz de fazer aquilo.
— Levarei o dia inteiro, e você terá enlouquecido muito antes de morrer.
— Está bem.
— O que está bem — conversa ou escultura?
— Conversa.
— Boa menina.
Ela estava preparada para morrer, se chegasse a isso, mas não via sentido em sofrer desnecessariamente.
— Qual é o seu nome? — perguntou ele.
— Shepherd. Chyna Shepherd. C-h-y-n-a.
— Ah, não era um canto enigmático, afinal de contas.
— Como?
— Um nome estranho.
— Acha mesmo?
— Não tente brincar comigo, Chyna. Continue.
— Está bem. Mas antes posso beber alguma coisa? Estou desidratada.
Ele foi até a pia e encheu um copo com água. Pôs três cubos de gelo. Já se encaminhava para a mesa quando parou e disse:
— Posso acrescentar uma fatia de limão.
Ela sabia que não era um gracejo. De volta da caçada, empenhava-se agora em passar do papel de perseguidor selvagem para o de contador, escriturário, corretor imobiliário, mecânico de automóveis ou qualquer outra coisa que fazia quando se passava por um ser humano normal. Alguns sociopatas conseguiam assumir uma falsa personalidade mais convincente que as melhores atuações dos melhores atores do mundo. Aquele homem provavelmente era assim, embora precisasse, depois de se entregar a um massacre desenfreado, daquele período de ajustamento, para lembrar a si mesmo as maneiras e cortesias da sociedade civilizada.
— Não, obrigada — disse ela à oferta de limão.
— Não é trabalho nenhum — assegurou o assassino, gentil.
— Apenas água.
Ele pegou um descanso de cerâmica forrado de cortiça, pôs o copo em cima, empurrou-o pela mesa. Tornou a se sentar na frente dela.
Chyna sentiu-se repugnada pela perspectiva de beber de um copo que aquele homem tocara, mas estava mesmo com muita sede. Tinha a boca seca, a garganta um pouco dolorida.
Por causa das algemas, ela segurou o copo com as duas mãos.
Sabia que ele a observava à procura de sinais de medo.
A água não derramou. A borda do copo não bateu em seus dentes.
A verdade é que Chyna não sentia mais medo dele, pelo menos não no momento, embora mais tarde talvez sentisse. Com certeza sentiria. Sua paisagem interior agora era um deserto sob um céu sombrio: uma desolação entorpecedora, com os clarões furiosos de raios num horizonte distante.
Ela tomou metade da água antes de baixar o copo.
— Quando entrei aqui, um momento atrás — disse ele —, você estava com as mãos cruzadas, a cabeça abaixada contra as mãos. Estava rezando?
Chyna pensou a respeito.
— Não.
— Não adianta mentir para mim.
— Não estou mentindo. Não estava rezando naquele momento.
— Mas costuma rezar?
— Às vezes.
— Deus tem medo de mim. Ela esperou.
— Deus tem medo de mim... em inglês, God fears me, são palavras que podem ser feitas com as letras de meu nome.
— Entendo.
— Dragon seed. Semente de dragão.
— Das letras do seu nome.
— Isso mesmo. E também... forge of rage. Forja de raiva.
— E um jogo interessante.
— Nomes são interessantes. O seu é passivo. Um nome de lugar como primeiro nome. E Shepherd, que significa pastor — bucólico, vagamente cristão. Quando penso em seu nome, vejo um camponês asiático na encosta de uma colina com ovelhas... ou um Cristo de olhos puxados convertendo pessoas entre os pagãos.
Ele sorriu, divertindo-se com seu gracejo.
— Mas é evidente que seu nome não a define direito, já que não é uma pessoa passiva.
— Eu fui, durante a maior parte da minha vida.
— E mesmo? Não se mostrou assim na noite passada.
— Não na noite passada — concordou Chyna. — Mas era passiva até então.
— Meu nome, por outro lado, é um nome de poder. Edgler Foreman Vess. — Ele o soletrou. — Não Edgar. Edgler. E Vess... se o prolongar, é como uma serpente sibilando.
— Demon. Demônio.
— Isso também. Está em meu nome — demon.
— Anger. Raiva.
Ele parecia satisfeito com a disposição de Chyna para entrar no jogo.
— Você é boa nisso, ainda mais considerando que não tem lápis e papel.
— Vessel— disse ela. — Recipiente. Também está em seu nome.
— Esse é fácil. Mas também sêmen. Recipiente e sêmen, a mulher recebendo, o homem dando. Não gostaria de tirar um insulto disso, Chyna?
Em vez de responder, ela pegou o copo de novo e bebeu a metade restante da água. Os cubos de gelo bateram em seus dentes.
— Agora que já molhou a garganta, Chyna, quero saber tudo a seu respeito. Lembre-se: a escultura.
Chyna relatou tudo, começando pelo momento em que ouvira o grito, sentada diante da janela no quarto de hóspedes na casa dos Templeton. Falou numa voz monótona, não por cálculo, mas porque de repente não conseguia falar de outra maneira. Tentou variar a inflexão, incutir vida às palavras, mas não conseguiu.
O som de sua voz, zumbindo em meio aos acontecimentos da noite, assustou-a como Edgler Vess já não fazia. O relato chegava a seus ouvidos como se fosse outra pessoa falando, e era a voz de uma pessoa perdida e derrotada.
Disse a si mesma que não era derrotada, que ainda tinha esperança, que levaria a melhor sobre aquele assassino desgraçado, de um jeito ou de outro. Mas a voz interior carecia de toda e qualquer convicção.
Apesar da maneira desalentada com que Chyna fez seu relato, Vess foi um ouvinte extasiado. Começou numa postura relaxada, recostado na cadeira, mas quando Chyna terminou o relato, ele já se inclinava para a frente, os braços sobre a mesa, debruçado na direção dela.
Interrompeu-a várias vezes para fazer perguntas. Ao final, ficou sentado num silêncio pensativo.
Chyna não suportava olhar para ele. Cruzou as mãos sobre a mesa, fechou os olhos, encostou a testa nos polegares, a posição em que estava no momento em que Vess saíra da lavanderia.
Também não estava rezando desta vez. Carecia da esperança necessária para a oração.
Depois de alguns minutos, ela ouviu a cadeira de Vess ser arrastada para trás. Ele se levantou. Chyna ouviu-o dar a volta, e depois o barulho familiar que qualquer cozinheiro faz quando está ocupado numa cozinha.
Ela sentiu o cheiro de manteiga derretendo numa frigideira, depois o de cebolas tostando.
Ao contar a história, Chyna perdera o apetite, que não voltou com o aroma das cebolas. Depois de algum tempo, Vess comentou:
— Estranho que eu não a tenha farejado na casa dos Templeton.
— Consegue fazer isso? — indagou ela, sem erguer a cabeça. — Consegue farejar as pessoas como se fosse a porra de um cachorro?
— Quase sempre — respondeu ele, sem se sentir ofendido, e aparentemente falando sério. — E você deve ter feito barulho mais de uma vez durante a noite. Tenho certeza de que não consegue ser tão furtiva assim. Eu deveria ter ouvido até sua respiração.
Chyna ouviu o ruído dos ovos na tigela sendo batidos com vigor, sentiu o cheiro de pão torrando.
— Numa casa silenciosa, com todos mortos, seus movimentos deveriam provocar correntes de ar, como um bafo frio na minha nuca, arrepiando os pêlos das minhas mãos. Cada movimento seu deveria ter uma textura diferente contra meus olhos. E ao passar por um lugar onde você estivera, eu deveria ter sentido o deslocamento de ar de sua passagem.
Ele era louco de pedra. Muito elegante na camisa de cambraia, com seus lindos olhos azuis, os cabelos escuros penteados para trás, uma covinha na face esquerda, mas pustulento e gangrenado por dentro.
—Meus sentidos são excepcionalmente aguçados.
Vess abriu a água na pia. Sem olhar, Chyna sabia que ele lavava o batedor de ovos. Não o deixaria sujo.
— Meus sentidos são aguçados assim porque me entreguei à sensação. Pode-se dizer que a sensação é minha religião.
Havia agora um chiado, muito mais alto que o som das cebolas tostando, e um novo aroma.
— Mas você se manteve invisível para mim — continuou ele. — Como um espírito. O que a torna especial?
Amargurada, ela murmurou contra o tampo da mesa:
— Se eu fosse especial, estaria aqui acorrentada?
Embora Chyna não tivesse falado para ele e pensasse que não poderia ouvi-la com o barulho dos ovos e cebolas no fogo, Vess disse:
— Acho que tem razão.
Mais tarde, quando ele pôs os pratos na mesa, Chyna ergueu a cabeça e sacudiu as mãos.
— Em vez de obrigá-la a comer com as mãos — disse ele —, vou lhe dar um garfo, porque presumo que compreende a inutilidade de tentar usá-lo para me furar os olhos.
Ela acenou com a cabeça.
— Boa menina.
Havia no prato uma omelete grossa de quatro ovos cheia de queijo cheddar e cebolas tostadas. Ele pusera por cima três fatias de um tomate firme e um punhado de salsa picada. Dois pedaços de uma torrada cortada em diagonal estavam arrumados para sustentar a omelete.
Vess tornou a encher o copo com água e acrescentou mais dois cubos de gelo.
Faminta apenas pouco tempo antes, Chyna mal podia agora tolerar a visão da comida. Sabia que devia comer, por isso beliscou a omelete e mastigou a torrada. Mas nunca seria capaz de comer tudo o que ele lhe servira.
Vess comeu com evidente satisfação, mas sem fazer barulho, sem se mostrar relaxado. Suas maneiras à mesa eram irrepreensíveis, e ele usava o guardanapo com freqüência para limpar os lábios.
Chyna permaneceu envolta em seu desespero particular, e quanto mais Vess parecia apreciar a comida, mais a sua omelete tinha gosto de cinzas.
— Você seria bastante atraente se não estivesse toda amarrotada e suada, o rosto sujo de terra, os cabelos desgrenhados pela chuva. Muito atraente mesmo, eu acho. Uma sedutora por trás dessa sujeira. Talvez mais tarde eu lhe dê um banho.
Chyna Shepherd, incólume, e viva.
E estranhamente, depois de um longo silêncio, Edgler Vess disse:
— Incólume e viva.
Ela tinha certeza de que não dissera a prece em voz alta.
— Incólume e viva — repetiu ele. — Não foi o que disse? Na escada, ao descer à procura de Ariel?
Ela fitou-o, aturdida.
— Foi?
Chyna demorou a responder.
— Foi, sim.
— Estive pensando a respeito. Disse seu nome e depois essas três palavras, embora não fizessem sentido, pois eu ainda não sabia que se chamava Chyna Shepherd.
Ela desviou os olhos para a janela. Um doberman vagueava pelo quintal dos fundos.
— Era uma oração?
Em sua desolação, Chyna não pensara que ele poderia assustá-la ainda mais, mas se enganara. A intuição do assassino era apavorante — e por razões que ela não conseguia compreender completamente.
— Era uma oração? — insistiu ele.
— Era, sim.
— Em seu coração, Chyna, no fundo de seu coração, acredita sinceramente que Deus existe? Seja franca agora, não apenas comigo, mas também com você mesma.
Em determinado momento — e não fazia tanto tempo assim —, ela teve certeza suficiente do que acreditava para responder 'Sim'. Mas agora permaneceu calada.
— Mesmo que Deus exista — acrescentou Vess —, será que ele sabe que você existe?
Chyna comeu mais um pouco da omelete. Parecia mais gordurosa do que antes. Os ovos, a manteiga e o queijo grudavam em sua boca, mal conseguia engolir.
Ela largou o garfo. Acabara. Não comera mais que um terço de sua refeição.
Vess terminou de comer o que havia em seu prato, acompanhado por um café, que não ofereceu a ela, sem dúvida porque pensava que Chyna jogaria a infusão quente em seus olhos.
— Parece desanimada — comentou Vess. Ela não respondeu.
— Sente-se um tremendo fracasso, não é? Falhou com a pobre Ariel, consigo mesma e também com Deus, se é que Ele existe.
— O que quer de mim?
O que Chyna quis dizer com isso era: Por que ele me submete a isso? Por que não me mata agora e acaba com tudo logo de uma vez?
— Ainda não me decidi — respondeu Vess. — O que eu fizer com você terá de ser especial. Sinto que é uma pessoa especial, quer você pense o mesmo quer não, e tudo o que fizermos juntos deve ser... intenso.
Ela fechou os olhos e se perguntou se seria capaz de encontrar Narnia de novo, depois de tantos anos.
— Não posso responder à pergunta sobre o que quero fazer com você, mas não tenho a menor dúvida sobre o que quero com Ariel — acrescentou ele. — Gostaria de ouvir o que pretendo fazer com ela?
Provavelmente ela era velha demais para acreditar em qualquer coisa, até mesmo num simples guarda-roupa mágico.
A voz de Vess saiu das trevas dentro de Chyna, como se ele vivesse ali tanto quanto no mundo exterior:
— Fiz uma pergunta, Chyna. Lembra do nosso acordo? Pode respondê-la... ou cortarei um pedaço do seu rosto. Gostaria de ouvir o que pretendo fazer com Ariel?
— Tenho certeza de que já sei.
— Tem razão, deve saber, pelo menos em parte. Sexo, isso é óbvio. Ela é apetitosa. Ainda não a toquei, mas é o que farei. E creio que é virgem. Pelo menos disse que era, no tempo em que ainda falava, e não me pareceu o tipo de garota que mentiria a respeito.
E havia a Floresta Encantada além do Rio, onde viviam o sr. Rato, a sra. Toupeira e o sr. Texugo, os galhos cheios de folhas verdes no verão, com Pã tocando flauta nas sombras frescas sob as árvores.
— E quero ouvi-la chorando, perdida e chorando. Quero farejar a pureza de suas lágrimas. Quero sentir a textura delicada de seus gritos, conhecer o cheiro claro deles, o gosto de seu terror. É o que sempre acontece. Sempre.
Nem o rio lânguido nem a Floresta Encantada se materializaram, embora Chyna se esforçasse para vê-los. O sr. Rato, a sra. Toupeira, o sr. Texugo e o sr. Sapo haviam desaparecido para sempre na morte odiosa que reivindica todas as coisas. E a tristeza disso, à sua maneira, era tão grande quanto a tristeza do que acontecera com Latira e em breve aconteceria também com a própria Chyna.
— De vez em quando levo uma delas para o quarto no porão... e sempre para o mesmo propósito — informou Vess.
Ela não queria mais ouvir. Mas seria difícil tapar os ouvidos com as algemas. E se tentasse, ele acorrentaria seus pulsos aos tornozelos. Exigiria que ela escutasse.
— As experiências mais intensas da minha vida ocorreram naquele quarto, Chyna. Não o sexo. Não as surras ou os cortes. Tudo isso vem depois, é uma bonificação. Primeiro, eu trato de vencer a resistência delas, e é então que fica intenso.
Ela sentia um aperto no peito. Só conseguia manter uma respiração superficial.
— Durante um ou dois dias — continuou Vess —, todas elas pensam que escaparão de suas mentes pelo medo, mas estão enganadas. É preciso mais tempo do que um ou dois dias para levar uma pessoa à loucura, a uma loucura real e irremediável. Ariel é minha sétima cativa, e todas as outras mantiveram sua sanidade por semanas. Uma delas sucumbiu no décimo oitavo dia, mas três agüentaram por dois meses inteiros.
Chyna desistiu de procurar a fugidia Floresta Encantada e fitou-o nos olhos, por cima da mesa.
— A tortura psicológica é muito mais interessante e difícil que a tortura física, embora a última possa ser inegavelmente emocionante — declarou Vess. — A mente é muito mais resistente que o corpo, um desafio muito maior. E quando a mente se parte, juro que consigo ouvir o estalo, um som mais forte que o de um osso se quebrando... e como ecoa!
Chyna tentou identificar a consciência animal nos olhos dele, o que já vislumbrara antes, inesperadamente. Precisava vê-la de novo.
— Quando a mente sucumbe, algumas pessoas se contorcem no chão, debatem-se, rasgam as roupas. Arrancam os cabelos, Chyna, arranham todo o rosto, algumas até se mordem com força suficiente para tirar sangue. Mutilam-se de maneiras bastante inventivas. Soluçam, soluçam, não conseguem parar por horas, dias, soluçam até durante o sono. Uivam como cachorros, Chyna, berram e sacodem os braços como se estivessem convencidas de que podem voar. Sofrem alucinações e vêem coisas mais assustadoras do que o que eu represento para elas. Algumas falam de maneira incompreensível. É o que se chama de glossolalia. Conhece essa condição? Uma coisa fascinante. Parece convincente como uma língua, mas não tem significado, é um balbucio declamatório ou suplicante. Algumas perdem o controle das funções fisiológicas e se espojam na própria sujeira. É repugnante, mas fascinante de se observar — a verdadeira condição aviltante da humanidade, que a maioria das pessoas só é capaz de admitir na loucura.
Por mais que tentasse, Chyna não conseguia encontrar a besta nos olhos de Vess, apenas um azul plácido, uma escuridão vigilante nas pupilas. Não podia mais ter certeza se em algum momento identificara o animal ali. Ele não era meio homem e meio lobo, não era uma criatura que caía de quatro a claridade intensa da lua cheia. Pior, ele não era nada além de um homem — vivendo na extremidade do espectro da crueldade humana, mas ainda assim apenas um homem.
— Algumas se refugiam em silêncios catatônicos — prosseguiu Vess —, como é o caso de Ariel. Mas sempre as tiro desse estado. Ariel é até agora a mais obstinada, mas isso só a torna mais interessante. Vou vencê-la também, e quando o estalo ocorrer, Chyna, não será como nenhum outro. O mais glorioso, o mais intenso.
— A mais intensa de todas as experiências é demonstrar misericórdia — disse Chyna, sem ter a menor idéia de onde tirara essas palavras. Soavam como uma súplica, e ela não queria que Vess pensasse que rogava por sua vida. Mesmo em seu desespero, não seria reduzida a rastejar.
Um súbito sorriso fez Mr. Vess parecer quase um menino, que gostava de brincadeiras e trotes, colecionava figurinhas de beisebol, andava de bicicleta, construía aeromodelos, ajudava na missa aos domingos. Chyna pensou que ele sorria por suas palavras, divertindo-se com a ingenuidade dela, mas não era o caso, como ficou claro pelo que disse em seguida:
— Talvez... o que eu queira de você seja a sua companhia quando finalmente vencer a resistência de Ariel. Em vez de matar você na frente dela para fazê-la se render, encontrarei algum outro meio. E você poderá observar.
Oh, Deus!
— Afinal, você é estudante de psicologia, quase uma autêntica mestra em psicologia. Certo? Sentada ali, a me julgar de uma maneira rigorosa, convencida de que minha mente é 'aberrante' e que sabe exatamente como penso. Seria interessante verificar se algumas das teorias modernas sobre o funcionamento da mente serão desfeitas por essa pequena experiência. Não concorda? Depois que eu dominar Ariel, você pode escrever um ensaio a respeito, Chyna, só para mim. Eu gostaria de ler suas abalizadas opiniões.
Por Deus, nunca chegaria a esse ponto. Ela jamais se tornaria uma testemunha de algo assim. Mesmo acorrentada, encontraria um meio de cometer suicídio antes de permitir que ele a levasse para aquele quarto e a fizesse ver aquela garota adorável desmoronar. Chyna abriria os pulsos a mordidas, engoliria a língua, daria um jeito de cair dos degraus e quebrar o pescoço. Qualquer coisa.
Ao perceber que a levara do mais profundo desespero apático para o terror total, Vess tornou a sorrir — e depois desviou a atenção para o prato de Chyna.
— Pretende comer o resto?
— Não.
— Então eu como.
Ele empurrou para o lado seu prato vazio e puxou o outro. Com o garfo, cortou um pedaço da omelete fria, enfiou na boca e gemeu baixinho de satisfação. Devagar, num movimento sensual, tirou o garfo da boca, comprimindo os lábios enquanto o puxava, depois estendendo a língua para uma última lambida. Depois de engolir, Vess comentou:
— Pude sentir o seu gosto no garfo. Sua saliva tem um sabor adorável... só é um pouco amarga. Mas tenho certeza de que não é um componente habitual, apenas o resultado de azia.
Ela não conseguia encontrar escapatória fechando os olhos, por isso ficou observando enquanto ele devorava o resto de seu desjejum. Ao final, Chyna tinha uma pergunta a fazer:
— Ontem à noite... por que comeu a aranha?
— Por que não?
— Isso não é resposta.
— É a melhor resposta a qualquer pergunta.
— Pois então me dê a segunda melhor.
— Achou repulsivo?
— Estou apenas curiosa.
— Sem dúvida encara isso como uma experiência negativa... comer uma aranha nojenta e se mexendo.
— Sem dúvida.
— Mas não há experiências negativas, Chyna. Apenas sensações. E não se pode atribuir valores à sensação pura.
— Claro que se pode.
— Se pensa assim, então está no século errado. De qualquer modo, a aranha tinha um sabor interessante, e agora compreendo melhor as aranhas por ter absorvido uma. Conhece o modo de aprendizagem das planárias?
— Planárias?
— Deveria ter estudado isso num curso básico de biologia enquanto se tornava uma mulher tão instruída. Algumas planárias podem aprender a transpor um labirinto...
Chyna se lembrou e o interrompeu:
— Mas se você as mói e as dá de comer a outras planárias, a segunda leva pode atravessar o mesmo labirinto na primeira tentativa.
— É isso mesmo. Ótimo. — Vess acenou com a cabeça, feliz. — Elas absorvem o conhecimento por meio da carne.
Ela não se preocupou em formular sua pergunta seguinte, pois Vess não podia ser insultado nem lisonjeado.
— Mas não acredita que agora sabe como é ser uma aranha, que tem todo o conhecimento de uma aranha, só porque comeu uma, não é?
— Claro que não, Chyna. Se eu tivesse uma mentalidade tão literal, seria louco, não é mesmo? Metido em algum hospício, conversando com um bando de amigos imaginários. Mas por causa dos meus sentidos aguçados, absorvi da aranha certa qualidade aracnídea, algo que você nunca poderá compreender. Aumentei minha compreensão da aranha como uma pequena caçadora maravilhosa, uma criatura de poder. Aranha é uma palavra de poder, embora não possa ser formada com as letras do meu nome.
Ele hesitou, pensou por um momento e acrescentou:
— Mas pode ser formada com as letras do seu nome.
Ela não se deu ao trabalho de lembrá-lo da estranha grafia escolhida por sua mãe. Não era possível montar a palavra em inglês spider com as letras de Chyna. Shepherd.
— E foi um risco, comer uma aranha, o que aumentou consideravelmente a atração — continuou Vess. —A menos que você seja um entomologista, não consegue ter certeza se um espécime específico é venenoso ou não. Algumas, como a aranha marrom doméstica, são muito perigosas. Uma picada na mão é uma coisa... mas eu precisava ser rápido e esmagá-la contra o céu da boca, antes que pudesse picar minha língua.
— Você gosta de correr riscos. Ele deu de ombros.
— Sou assim.
— Vive a vida no seu limite máximo.
— É a minha natureza.
— E se fosse picado na língua?
— A dor é a mesma coisa que o prazer, apenas diferente. Aprenda a apreciá-la e será mais feliz com a vida.
— Até mesmo a dor tem valor neutro?
— Claro. Não passa de sensação. Ajuda a fazer crescer o recife da alma... se é que existe alma.
Ela não sabia do que ele estava falando — recife da alma — e não perguntou. Cansara dele. Cansara de temê-lo, cansara até de odiá-lo. Com suas perguntas, procurava compreender, como fizera durante toda a vida, e agora estava cansada dessa busca de significado. Nunca saberia por que algumas pessoas cometiam incontáveis pequenas crueldades — ou grandes —, e o esforço para entender só servira para esgotá-la, deixara-a vazia, fria e cinzenta por dentro. Vess apontou para o indicador vermelho e inchado de Chyna e comentou:
— Isso deve doer. E o pescoço também.
— A dor de cabeça é o pior. E nem de perto lembra prazer.
— Não posso lhe mostrar com facilidade o caminho para a iluminação e provar a você que está errada. Leva tempo. Mas há uma lição menor, que se aprende num instante...
Ele se levantou, foi até uma prateleira de temperos na extremidade dos armários da cozinha. Entre os vidros e latas de tomilho, cravo, endro, noz-moscada, pimenta-do-reino, gengibre, manjericão e canela, havia um vidro de aspirina.
— Não tomo isto para dor de cabeça, porque gosto de saborear a dor. Mas sempre tenho aspirina em casa porque de vez em quando gosto de mastigar pelo sabor.
— O gosto é horrível.
— Apenas amargo. E o amargo pode ser tão agradável quanto o doce se você aprende que cada experiência, cada sensação, vale a pena.
Ele voltou à mesa com o vidro de aspirina. Pôs na frente de Chyna — e tirou o copo com água.
— Não, obrigada.
— O sabor amargo tem seu valor. Ela ignorou o vidro.
— Como quiser — murmurou ele, tirando os pratos da mesa. Embora precisasse de alívio para as várias dores, Chyna recusou-se a
tocar na aspirina. Talvez irracionalmente — mas mesmo assim com determinação —, ela sentia que se mastigasse alguns comprimidos, mesmo que apenas pelos efeitos medicinais, estaria mergulhando nas estranhas dimensões da loucura de Edgler Vess. Era um limite que não queria cruzar por um propósito qualquer, mesmo com um pé firmemente apoiado no mundo real.
Ele lavou os pratos da refeição, as tigelas, a frigideira e os talheres. Era eficiente e meticuloso, usando água quente e muito detergente com fragrância de limão.
Chyna tinha mais uma pergunta que não podia ficar sem resposta, e finalmente perguntou:
— Por que os Templeton? Por que escolhê-los, entre tantas pessoas? Não foi por acaso, não é mesmo? Não foi apenas o lugar onde aconteceu de parar à noite.
— Não, não foi por acaso — confirmou ele, limpando a frigideira com uma esponja de plástico. — Há poucas semanas Paul Templeton esteve por aqui a negócios, e quando...
— Quer dizer que o conhecia?
— Não exatamente. Ele passou pela cidade, a sede do condado, a negócios, como eu disse. Tirava alguma coisa da carteira para me mostrar quando aquele conjunto de envelopes de plástico, do tipo que se usa para pôr fotos, caiu de repente. Peguei para ele. Uma das fotos era da esposa. A outra, de Laura. Ela parecia tão... tão viçosa, tão imaculada, que eu comentei "É uma linda moça". Paul pôs-se a falar sobre ela, todo orgulhoso. Disse que ela iria completar em breve o mestrado em psicologia, tinha médias excelentes e tudo mais. Disse que sentia muita saudade desde que ela foi para a escola, mesmo tendo se acostumado após seis anos, e que mal podia esperar pelo fim do mês, quando a filha passaria um fim de semana prolongado no vinhedo. Não mencionou que ela traria uma amiga.
Um acaso. Fotos caídas no chão. Uma mera conversa superficial.
A arbitrariedade era espantosa, quase maior do que Chyna podia suportar.
Enquanto observava Vess limpar cuidadosamente o balcão, enxaguar o escorredor de louça e esfregar a pia, ela começou a pensar que fora pior do que apenas arbitrário o que acontecera com a família Templeton. Todas aquelas mortes violentas já pareciam predestinadas, uma espiral que os levava inexoravelmente para as trevas, como se tivessem nascido e vivido apenas para Edgler Vess.
Era como se ela também tivesse nascido e lutado até agora com o exclusivo propósito de proporcionar um momento de satisfação doentia àquele impiedoso predador.
O pior horror de sua violência não era a dor e o medo que ele infligia, não era o sangue, não eram os cadáveres mutilados. A dor e o medo eram relativamente breves, considerando-se toda a dor e ansiedade rotineiras da vida. O sangue e os corpos eram apenas uma conseqüência. O pior horror era que ele roubava o significado das vidas inacabadas das pessoas que matava, fazia com que ele próprio fosse o propósito primário de suas existências, privava-as não do tempo, mas da realização.
Seus pecados infames eram a inveja — da beleza, da felicidade — e o orgulho, submetendo o mundo inteiro à sua visão da criação. Eram os maiores de todos os pecados, as mesmas transgressões pelas quais o demônio, outrora um arcanjo, despencou do Paraíso.
Ao enxugar a louça, as panelas e os talheres e guardar cada peça em sua prateleira ou gaveta, Edgler Vess parecia tão limpo quanto um bebê que acabou de tomar banho, tão inocente quanto um recém-nascido. Recendia a sabonete, uma boa loção após barba, a detergente com fragrância de limão. Apesar de tudo isso, no entanto, Chyna descobriu-se esperando, supersticiosamente, por um sopro de enxofre.
A vida de todas as pessoas leva a uma série de suaves epifanias — ou pelo menos oportunidades para isso —, e Chyna foi invadida por um pesar novo e penetrante ao refletir sobre esse aspecto sombrio das jornadas interrompidas da família Templeton. As gentilezas que poderiam ter feito aos outros. O amor que poderiam ter distribuído. As coisas que poderiam vir a compreender em seus corações.
Vess terminou de limpar tudo e voltou à mesa.
— Tenho algumas coisas para fazer lá em cima, lá fora — e depois dormirei quatro ou cinco horas, se puder. Tenho trabalho a fazer esta noite. Preciso descansar.
Chyna especulou que trabalho era esse, mas não perguntou. Podia estar falando sobre um emprego — ou de sua implacável investida contra a sanidade de Ariel. Se a última alternativa fosse verdadeira, ela preferia não saber o que iria acontecer.
— Quando se mexer na cadeira, tome cuidado, caso contrário as correntes poderão arranhar a madeira.
— Eu detestaria arranhar seus móveis. Ele fitou-a em silêncio por meio minuto.
— Se é estúpida o bastante para pensar que conseguirá se libertar, ouvirei o barulho das correntes e terei de voltar para aquietá-la. Se isso acontecer, não vai gostar do que farei.
Ela não disse nada. Acorrentada, sentia-se irremediavelmente incapaz. Não poderia escapar.
— Mesmo que você conseguisse se livrar da mesa e das cadeiras, não poderia se mover depressa. E cães de ataque patrulham a propriedade.
— Já os vi.
— Mesmo que não estivesse acorrentada, eles a matariam antes que pudesse dar dez passos além da porta.
Chyna acreditava nisso, mas não entendia por que ele sentia a necessidade de realçar esse ponto com tanta veemência.
— Houve uma ocasião em que soltei um rapaz no quintal — acrescentou Vess. — Ele correu direto para a árvore mais próxima e subiu, ficando fora de alcance, com apenas uma mordida mais grave na perna direita e um ferimento leve no tornozelo esquerdo. Equilibrou-se nos galhos e pensou que estaria seguro por algum tempo, com os cachorros circulando lá embaixo e observando-o. Mas peguei um rifle 22, saí para a varanda dos fundos e de lá acertei-o na perna. Ele caiu da árvore, e tudo acabou em um minuto.
Chyna não disse nada. Havia momentos em que se comunicar com aquela coisa abominável parecia tão impossível quanto discutir os méritos de Mozart com um tubarão. Aquele era um momento assim.
— Você foi invisível para mim ontem à noite — comentou Vess. Ela esperou.
Ele contemplou-a de alto a baixo, como se procurasse por um elo frouxo numa das correntes ou uma algema aberta, algo despercebido até agora.
— Como um espírito.
Chyna não tinha certeza se alguma vez seria possível discernir o que aquela coisa pensava, mas naquele momento, por Deus, ele parecia vagamente apreensivo em deixá-la sozinha. Não conseguia imaginar por quê.
— Vai ficar quieta?
Ela fez que sim com a cabeça.
— Boa menina.
Vess foi até a porta entre a cozinha e a sala de estar. Ela se lembrou de que tinha mais uma coisa a dizer.
— Antes de ir...
Ele virou-se para ela.
— Pode me levar a um banheiro? — pediu Chyna.
— É muito trabalho soltar as correntes agora. Pode mijar nas roupas, se precisar. Vou lavá-la mais tarde, de qualquer maneira. E posso comprar almofadas novas para a cadeira.
Ele atravessou a porta para a sala de estar e desapareceu.
Chyna estava decidida a não passar pela humilhação de ficar ali sentada em sua própria sujeira. Sentia uma leve necessidade de urinar, mas ainda não era premente. Mais tarde teria problemas.
Era muito estranho... que ainda fosse capaz de se importar em evitar a humilhação ou pensar no futuro.
Mr. Vess para no meio da sala de estar, ouve a mulher na cozinha. Não há nenhum retinido de correntes. Ele espera. Nenhum som ainda. O silêncio o perturba.
Não tem certeza do que deve fazer com ela. Sabe muito a seu respeito agora — mas ela ainda guarda mistérios.
Acorrentada e sob seu controle total, é certo que ela não pode ser seu pneu furado. Chyna cheira a desespero e derrota. No tom apático de sua voz ele vê a desolação de cinzas, sente a textura de uma mortalha. Ela está praticamente morta e já se resignou a isso. E, no entanto...
Da cozinha vem o ruído das correntes. Não um barulho alto, não uma investida vigorosa contra os grilhões. Apenas um suave retinido, quando ela muda de posição — talvez para comprimir as coxas com força e reprimir a vontade de urinar.
Mr. Vess sorri.
Sobe para seu quarto. Da prateleira superior, no fundo do closet, tira um telefone. No quarto, liga o aparelho e faz duas ligações, avisando às pessoas que já voltou de seus três dias de férias e retomará as atividades naquela noite.
Embora esteja confiante de que os dobermans, em sua ausência, nunca permitirão que alguém entre na casa, Vess tem apenas dois aparelhos de telefone e os esconde em armários quando não está em casa. No caso muito improvável de que um intruso consiga sobreviver aos cães e entre na casa vivo, ele não poderá pedir ajuda.
O perigo de telefones celulares tem preocupado Mr. Vess nos últimos tempos. É difícil imaginar um ladrão carregando um celular ou usando-o para chamar a polícia, a fim de ajudá-lo a sair de uma casa onde está acuado por cães de guarda, mas coisas mais estranhas já aconteceram. Se Chyna Shepherd tivesse encontrado um celular no Honda na noite anterior, não estaria agora definhando em correntes.
A revolução tecnológica do final do milênio oferece numerosos confortos e grandes oportunidades, mas também tem aspectos perigosos. Graças à sua habilidade com computadores, ele alterou as impressões digitais de sua ficha em diversos departamentos governamentais, e pode ir sem luvas a lugares como a casa dos Templeton, desfrutando a plena sensualidade da experiência sem medo. Mas um telefone celular nas mãos erradas, no momento errado, pode levar de repente à mais intensa experiência de sua vida — e a última. As vezes ele anseia pela era mais simples de Jack, o Estripador, ou do esplêndido Ed Gein, que inspirou Psicose, ou Richard Speck; sonha saudoso com o mundo menos complicado das décadas passadas, de campos de caça menos atravancados por pessoas como ele.
Ao buscar febrilmente os altos índices de audiência, ao realçar cada história sangrenta, ao transformar assassinos em celebridades, a nova mídia eletrônica pode ter inspirado mais gente dotada da mesma lucidez que ele. Mas também alarmou demais as ovelhas. Muitos no rebanho se mantêm com os olhos arregalados em alerta e são rápidos para fugir ao primeiro sinal de perigo.
Ainda assim, ele consegue se divertir.
Depois de dar os telefonemas, Mr. Vess vai para o trailer . As placas, junto com os parafusos de ponta grossa e as porcas para prendê-las no veículo, estão numa gaveta na kitchenette, junto com uma chave de fenda.
Por vários meios, em geral duas ou três semanas antes de uma de suas expedições, Mr. Vess seleciona com todo cuidado os alvos primários, como a família Templeton. E embora às vezes traga um troféu vivo para o quarto no porão, ele quase sempre viaja muito além das fronteiras do Oregon para reduzir as chances de que suas duas vidas — a do bom cidadão e a do aventureiro homicida — possam se cruzar no momento mais inconveniente. (Não utilizou esse método para chegar a Laura Templeton, mas descobriu que a pesquisa clandestina, via computador, nos imensos registros do Departamento de Veículos Motorizados no vizinho Estado da Califórnia é uma excelente maneira de localizar mulheres atraentes. As fotografias dos prontuários — apenas o rosto — estão agora no arquivo eletrônico do DVM. Junto com cada foto estão indicados a idade, a altura e o peso, dados que ajudam Vess a identificar candidatas inaceitáveis, a fim de evitar avós fotogênicas ou gordas de rosto fino. E embora algumas pessoas forneçam apenas o número de uma caixa postal, a maioria usa o endereço domiciliar; com isso, Mr. Vess precisa apenas de uma série de bons mapas.) Ao se aproximar do final da jornada, a uns oitenta quilômetros da residência do alvo, ele tira as placas do trailer. Depois, por fazer questão de estar longe da cena de seus jogos antes de alguém descobrir as conseqüências, só poderá ser descoberto se alguma pessoa da vizinhança da vítima por acaso avistar o trailer, olhar para a placa, embora o veículo pareça inocente, e — o pneu furado de novo — tiver memória fotográfica. Por isso, ele não coloca as placas, de volta até voltar em segurança ao Oregon.
Se fosse detido por um guarda, por excesso de velocidade ou alguma outra infração de trânsito, manifestaria surpresa quando interrogado sobre a falta das placas, e diria que deviam ter sido roubadas, só Deus sabe por que motivo. É um bom ator; é capaz de convencer de seu espanto. Se houver a oportunidade de fazê-lo sem nenhum risco indevido, pode até matar o guarda, mas se isso não for possível, pode contar com uma solução rápida para o problema invocando a cortesia profissional.
Agora ele se agacha e prende a placa da frente em seu nicho.
Um a um, os cães se aproximam, farejando suas mãos e suas roupas, talvez desapontados por encontrarem somente os odores da loção após barba e do detergente. Estão ansiosos por atenção, mas continuam de serviço. Nenhum deles permanece ali por muito tempo, todos voltam à patrulha depois de um afago na cabeça, uma cocada atrás da orelha, uma palavra de afeição.
— Bom cachorro — murmura Mr. Vess para cada animal. — Bom cachorro.
Quando termina de colocar a placa da frente, ele se levanta, se espreguiça e boceja, enquanto contempla seus domínios.
Ao nível do solo, pelo menos, o vento cessou. O ar está parado e úmido. Recende a relva molhada, folhas em decomposição e floresta de pinheiros.
Com o fim da chuva, a neblina começa a se dissipar dos contrafortes e dos flancos inferiores das montanhas por trás da casa. Ainda não dá para ver os picos da cordilheira ocidental nem o manto persistente de neve nas encostas superiores. Mas diretamente por cima e para leste, onde não há neblina, as nuvens são mais cinzentas do que cúmulos pretos de tempestade, e deslocam-se depressa para sudeste, tangidas por um vento em grande altitude. Por volta da meia-noite, como ele prometera a Ariel, pode haver estrelas e até a lua para iluminar a relva alta na campina e refletir-se nos olhos leitosos de Laura morta.
Mr. Vess se desloca para a traseira do trailer a fim de fixar a segunda placa — e descobre marcas estranhas no caminho. Parado ali, a observá-las, ele franze o rosto.
O caminho é de cascalho, mas durante uma chuva forte a lama transborda do terreno próximo e forma uma camada fina sobre o caminho, escura e compacta.
Nessa camada de lama há impressões de cascos, talvez de um veado. E um veado de tamanho considerável. Atravessou o caminho mais de uma vez.
Ele vê um lugar onde o animal parou, escavando o solo.
Não há marcas de pneus, porque foram apagadas pela chuva que caía quando voltou para casa. É evidente que o veado passou por ali depois da tempestade.
Mr. Vess agacha ao lado das marcas, põe os dedos na lama fria. Pode sentir a dureza e suavidade dos cascos que deixaram aquelas marcas.
Há uma espécie de veado que vive nas colinas e montanhas próximas, mas estes raramente se aventuram até a propriedade de Mr. Vess, por medo dos dobermans.
E há algo peculiar nas pegadas do veado: o fato de não haver também pegadas dos cães.
Os dobermans foram treinados para se concentrarem nos intrusos humanos e, tanto quanto possível, ignorar a vida selvagem. Do contrário, poderiam estar distraídos num momento crucial para a segurança de seu dono. Nunca atacam coelhos, esquilos ou gambás — nem veados — a menos que uma fome intensa os leve a isso. Nem mesmo os perseguem por diversão.
Mesmo assim, os cães percebem a presença de outros animais na propriedade e satisfazem sua curiosidade dentro dos limites do treinamento.
Teriam se aproximado daquele veado e o cercado enquanto ele estivesse ali, paralisando-o de pavor ou afugentando-o. E depois que se fosse, teriam circulado pelo caminho de um lado para outro, farejando o rastro. Mas não há nenhum sinal de patas visível entre as marcas de cascos. Limpando as pontas dos dedos sujas de lama, Mr. Vess se ergue, dá uma volta lenta, estudando o terreno ao redor. As campinas para o norte e os distantes bosques de pinheiros por trás. O caminho seguindo para leste, pelo outeiro sem vegetação. O pátio para o sul, mais campinas além, os bosques outra vez. Finalmente o quintal dos fundos, o galpão, até as colinas. O veado — se é que era mesmo um veado — desapareceu por completo.
Edgler Vess fica imóvel. Escutando. Vigilante. A respiração profunda, procurando odores. Por algum tempo, inala o ar pela boca aberta, captando o que pode através da língua. Sente o ar úmido como a pele pegajosa de um cadáver contra o seu rosto. Todos os seus sentidos estão alertas, focalizados ao máximo, absorvendo o mundo umedecido.
Ao final, chega à conclusão de que não há nenhuma ameaça na manhã".
Enquanto Vess ajusta a placa traseira do trailer, Tilsiter aproxima-se devagar e sem fazer barulho. O cão afocinha o pescoço do dono.
Vess encoraja o doberman a ficar ali. Assim que acaba de prender a placa, ele aponta o rastro do veado para Tilsiter.
O cão parece não ver as pegadas. Ou, se vê, não demonstra nenhum interesse.
Vess leva-o até o rastro, no meio do caminho. Torna a apontá-lo.
Por Tilsiter parecer confuso, Vess põe a mão em sobre sua cabeça e empurra o focinho para o rastro.
O doberma'i finalmente capta o cheiro, fareja ansioso, uiva de excitação — e depois demonstra não gostar do que cheira. Esquiva-se da mão do dono e recua, parecendo contrafeito.
— O que foi? — indaga Vess.
O cão lambe suas costeletas. Desvia.os olhos de Vess, esquadrinha as campinas, o caminho, o quintal. Torna a olhar para Vess, mas em seguida se afasta para o sul, retomando a patrulha.
As árvores ainda gotejam. A neblina se dissipa. As nuvens consumidas em chuva são empurradas para sudeste pelo vento.
Mr. Vess resolve matar Chyna Shepherd imediatamente. Vai arrastá-la para o pátio, obrigá-la a se deitar com o rosto contra a relva, enfiar duas balas em seu crânio. Tem de trabalhar naquela noite, e antes disso precisa dormir um pouco; não terá tempo para desfrutar uma morte lenta.
Mais tarde, quando voltar para casa, poderá enterrá-la na campina, com os quatro cães observando, insetos cantando e se alimentando na relva alta, Ariel forçada a beijar cada um dos cadáveres, antes de serem consignados à terra para sempre — tudo isso ao luar, se houver.
Depressa, agora, acabar com ela e dormir.
Ao voltar para a casa, ele percebe que ainda tem a chave de fenda na mão, o que pode ser mais interessante do que usar a pistola, e também rápido.
Sobe os degraus de pedra, entra na varanda, onde o dedo da advogada de Seattle pende silencioso entre as conchas, no ar frio e parado.
Ele não se dá ao trabalho de limpar os pés, uma rara quebra de um comportamento compulsivo.
O barulho da dobradiça meio emperrada combina com sua própria respiração entrecortada ao abrir a porta e entrar na casa. Quando fecha a porta, fica surpreso ao ouvir os batimentos fortes do seu coração um após o outro.
Nunca sente medo, nem uma única vez. Com aquela mulher, no entanto, já ficou inquieto mais de uma vez.
Uns poucos passos pela sala e ele pára, faz um esforço para se controlar. Agora que se encontra ali dentro de novo, não compreende por que matá-la parecia uma prioridade tão urgente.
Intuição.
Mas nunca sua intuição transmitiu uma mensagem tão clamorosa, deixando-o tão irritado. A mulher é especial, e por isso ele quer muito usá-la de maneiras especiais. Apenas disparar dois tiros em sua nuca ou cravar a chave de fenda nela algumas vezes parece um desperdício de seu potencial.
Ele nunca tem medo. Nem uma única vez.
Até mesmo ficar inquieto assim é um desafio à imagem mais cara que tem de si mesmo. A poeta Sylvia Plath, cuja obra deixa Mr. Vess numa ambivalência incomum, disse numa ocasião que o mundo era governado pelo pânico, "pânico com cara de cachorro, cara de demônio, cara de bruxa, cara de puta, pânico em letras maiúsculas sem nenhuma cara — o mesmo Johnny Panic, desperto ou dormindo". Mas Johnny Panic não domina Edgler Vess, nunca vai dominar, porque Mr. Vess não tem ilusões sobre a natureza da existência, não tem dúvidas sobre seu propósito pessoal, não tem momentos na vida que possam precisar de reinterpretação quando tem tempo para uma reflexão tranqüila.
Sensação.
Intensidade.
Ele não pode viver com intensidade se tiver medo, porque Johnny Panic inibe a espontaneidade e a experimentação. Portanto, não permitirá que esta mulher de mistérios o deixe inquieto.
A medida que a respiração e o coração se aquietam em ritmos normais, ele revira em sua mão o cabo com revestimento de borracha da chave de fenda, olhando para a lâmina curta na extremidade da longa haste de aço.
No instante em que Vess entrou na cozinha, antes mesmo que falasse, Chyna sentiu que ele mudara, não era mais o homem que conhecera até agora. Seu ânimo era diferente de qualquer outro que demonstrara antes, embora a diferença precisa fosse tão sutil que ela não era capaz de defini-la.
Ele se aproximou da mesa como se fosse sentar, mas parou a um passo da cadeira. Fitou-a, o rosto franzido, sem dizer nada.
Tinha uma chave de fenda na mão direita. Revirava o cabo entre os dedos, num movimento incessante, como se apertasse um parafuso imaginário.
Havia fragmentos de lama no chão por trás dele. Entrara em casa com os sapatos sujos.
Chyna sabia que não devia falar primeiro. Encontravam-se numa estranha conjuntura, em que as palavras poderiam não significar o mesmo que antes, em que a declaração mais inocente poderia ser um incitamento à violência.
Pouco antes, ela chegou a preferir ser morta depressa, até tentara desencadear algum dos impulsos homicidas dele. Também considerara meios de cometer suicídio, mesmo acorrentada. Agora, porém, conteve a língua, para evitar a possibilidade de enfurecê-lo inadvertidamente.
Era evidente que, mesmo em sua desolação, continuava a acalentar uma pequena mas obstinada esperança, camuflada nas trevas, onde não podia vê-la. Uma estúpida negação. Um patético anseio por mais uma oportunidade. A esperança, que sempre lhe parecera enobrecedora, agora era tão desumanizadora quanto a ganância febril, tão sórdida quanto a concupiscência, apenas um desejo animalesco por mais vida a qualquer custo.
Chyna se encontrava num lugar profundo e desolado.
— Ontem à noite — disse Vess finalmente. Ela esperou.
— No bosque de sequóias.
— O que tem?
— Viu alguma coisa?
— Vi o quê?
— Alguma coisa estranha?
— Não.
— Deve ter visto. Chyna sacudiu a cabeça.
— Os alces.
— Ali, sim, os alces — murmurou ela.
— Uma manada.
— É verdade.
— Não achou que eram estranhos?
— Alces da costa. Há muitos naquela área.
— Pareciam quase domados.
— Talvez porque há sempre turistas passando por ali.
Ele pensou na explicação, sempre revirando lentamente a chave de fenda.
— É possível.
Chyna percebeu que os dedos de sua mão direita estavam cobertos por uma camada de lama seca.
— Posso sentir o cheiro deles agora — acrescentou Vess, — a textura de seus olhos, posso ouvir o verde das samambaias balançando ao redor, e é como uma gota de óleo frio e escuro no meu sangue.
Não havia resposta possível, e ela não tentou formular nenhuma. Vess baixou o olhar do rosto de Chyna para a ponta da chave de fenda... e depois para os próprios sapatos. Olhou para trás, viu a lama no chão.
— Não pode ser — murmurou ele.
Vess largou a chave de fenda no balcão a seu lado.
Tirou os sapatos e levou-os para a lavanderia, onde os deixou para lavar mais tarde.
Voltou descalço, limpou cada fragmento de lama dos ladrilhos, usando toalhas de papel e um vidro de Windex. Na sala de estar, passou o aspirador para remover a lama do tapete.
Essas tarefas domésticas ocuparam-no por quase quinze minutos. Ao terminar, já não estava mais no estado de espírito que o dominava ao entrar na cozinha. O trabalho parecia ter dissipado sua depressão.
— Vou subir agora e dormir. Você vai ficar quieta, sem sacudir demais as correntes.
Ela não disse nada.
— Ficará quieta, ou descerei e enfiarei um metro e meio de corrente no seu rabo.
Chyna concordou com um movimento de cabeça.
— Boa menina.
Ele se retirou.
A diferença entre o comportamento habitual de Vess e seu recente estado de espírito já não era um mistério para Chyna. Por alguns minutos, ele perdera a autoconfiança usual. Agora ela voltara.
Mr. Vess sempre dorme nu, para facilitar seus sonhos.
Na terra do sono, todas as pessoas que encontra pelo caminho estão nuas, quer estejam dilaceradas sob seus pés numa gloriosa carnificina, quer estejam correndo em bandos por lugares escuros e ao luar. Há um calor em seus sonhos que não apenas torna as roupas supérfluas, mas também elimina o próprio conceito de roupas. Portanto, ficar nu é mais natural no mundo dos sonhos do que no real.
Ele nunca tem pesadelos. Isso acontece porque na vida cotidiana enfrenta as fontes de suas tensões e trata de superá-las. Nunca é oprimido pela culpa. Não julga os outros, nunca é afetado pelo que pensam a seu respeito. Sabe que se alguma coisa que deseja fazer parece certa, então é certa. Sempre procura se agradar, porque sabe que para se tornar um ser humano bem-sucedido deve primeiro gostar de si mesmo. Por isso, nunca deixa de se deitar com a mente desanuviada e o coração imperturbado.
Agora, Mr. Vess adormece poucos segundos depois de pousar a cabeça sobre o travesseiro. De vez em quando as pernas se movimentam por baixo das cobertas, como se estivesse perseguindo alguma coisa.
Uma vez, durante o sono, ele diz "Pai", de maneira quase reverente, e a palavra paira como uma bolha no ar — o que é estranho, porque Edgler Vess, aos nove anos de idade, queimou o pai vivo.
Com as correntes retinindo, Chyna abaixou-se e pegou a almofada extra do chão, ao lado da cadeira. Ajeitou-a na mesa, inclinou-se para a frente e encostou a cabeça.
Segundo o relógio da cozinha, eram quinze para o meio-dia. Ela estava acordada há mais de vinte e quatro horas, exceto quando cochilara no trailer e durante o tempo em que ficara sentada ali inconsciente, depois de ser golpeada por Vess.
Embora exausta, dormente de desespero, ela não pensava em dormir.
Mas esperava, ao manter os olhos fechados e deixar os pensamentos vaguearem para momentos mais agradáveis, afastar a mente da crescente vontade de urinar e da dor no pescoço e no dedo indicador.
Ela andava pelo vento, povoado por flores vermelhas, sem nenhum medo da escuridão e dos raios que ocasionalmente a riscavam, quando foi despeitada não por trovoadas, mas pelo som de uma tesoura cortando papel.
Levantou a cabeça da almofada e se sentou, ereta. A luz fluorescente fez seus olhos doerem.
Edgler Vess estava parado ao lado da pia, abrinso um saco grande de batata frita.
— Ali, finalmente acordou, dorminhoca. Chyna olhou para o relógio. Vinte para as cinco.
— Pensei que seria preciso uma fanfarra para trazê-la de volta — comentou ele.
Ela dormira por quase cinco horas. Ainda tinha os olhos pesados. A boca estava amarga. Podia sentir o cheiro de seu corpo, que parecia seboso.
Não urinara durante o sono, e por um instante sentiu um absurdo senso de triunfo por ainda não ter sido reduzida a esse nível inferior de humilhação. Mas depois percebeu como era patética, orgulhando-se de sua continência, e o cinza interior de sua alma escureceu mais um pouco.
Vess usava botas pretas, calça caqui, um cinto preto e uma camiseta branca.
Seus braços eram musculosos, enormes. Ela jamais teria êxito numa luta contra aqueles braços. Ele trouxe um prato para a mesa. Fizera um sanduíche para ela.
— Presunto e queijo, com mostarda.
Uma folha de alface aparecia além das beiradas do pão. Ele pusera alguns picles ao lado do sanduíche.
Quando Vess pôs o saco de batata frita sobre a mesa, Chyna disse:
— Não quero.
— Mas tem de comer.
Ela olhou pela janela para o pátio amplo, à claridade do fim de tarde.
— Se não comer, terei de alimentá-la à força.
Vess pegou o vidro de aspirina e sacudiu-o para chamar a atenção dela.
— Gostou ?
— Não tomei nenhuma.
— Ah, então está aprendendo a desfrutar sua dor. Ele parecia ganhar de qualquer maneira.
Vess foi guardar o vidro de aspirina, voltou com um copo de água e disse, sorrindo:
— Tem de pôr esses rins para funcionar, ou irão atrofiar. Enquanto Vess limpava o balcão onde preparara o sanduíche, Chyna
perguntou:
— Você foi maltratado quando era pequeno?
Ela sentiu ódio de si mesma por fazer essa pergunta, por ainda tentar compreender. Vess riu e balançou a cabeça.
— Isto não é um tratado psicológico, Chyna. É a vida real.
— Foi?
— Não. Meu pai era contador em Chicago. Minha mãe vendia roupas femininas numa loja de departamentos. Ambos me amavam. Compravam-me muitos presentes, mais do que eu conseguia usar, especialmente porque preferia brincar com... outras coisas.
— Animais — disse ela.
— Isso mesmo.
— E antes dos animais... insetos ou coisas pequenas, como peixinhos de aquário e filhotes de tartaruga.
— Isso está em seus livros?
— É o primeiro e pior dos sinais. Torturar animais. Vess deu de ombros.
— Era divertido... observar aquela coisa estúpida se encolher em chamas, dentro do casco. Ora, Chyna, você tem de aprender a ir além desses julgamentos mesquinhos de valor.
Ela fechou os olhos, esperando que Vess fosse logo para o trabalho.
— Seja como for, meus pais me amavam, dominados por essa ilusão. Provoquei um incêndio quando tinha nove anos. Derramei fluido de isqueiro na cama deles enquanto dormiam, depois encostei um cigarro aceso.
— Oh, meu Deus!
— Lá vai você de novo.
— Por quê?
Ele riu, desdenhoso.
— Por que não?
— Santo Deus!
— Quer a segunda melhor resposta?
— Quero.
— Então olhe para mim quando falo com você.
Chyna abriu os olhos. O olhar dele a penetrava profundamente.
— Queimei-os porque pensei que talvez tivessem começado a perceber.
— Perceber o quê?
— Que eu era especial.
— Viram você com a tartaruga.
— Não. Com o gato da vizinha. Morávamos num lindo bairro nos subúrbios. Havia muitos animais de estimação nas proximidades. Quando me pegaram, falaram em me levar a médicos. Mesmo aos nove anos, eu já sabia que não podia permitir isso. Pode ser mais difícil enganar os médicos. Por isso, tivemos um pequeno incêndio.
— E ninguém fez nada com você?
Ele terminou de limpar e sentou-se à mesa.
— Ninguém desconfiou. Papai estava fumando na cama, disseram os bombeiros. Acontece a todo instante. A casa inteira foi destruída. Mal consegui escapar vivo, e mamãe gritava, eu não podia alcançá-la, ajudar minha mamãe, eu estava tão apavorado.
Ele fez uma pausa, piscando para Chyna.
— Fui morar com minha avó. Era uma velha chata, cheia de regras, normas, padrões de comportamento, boas maneiras, cortesias, uma porção de coisas que eu tinha de aprender. Mas ela não conseguia manter a casa limpa. Seu banheiro era nojento. Levou-me a cometer meu segundo e último erro. Matei-a quando estava de pé na cozinha, preparando o jantar. Foi uma coisa impulsiva, duas facadas em cada rim.
— Com que idade?
Sempre sorrindo, brincando com ela, Vess perguntou:
— Vovó ou eu?
— Você.
— Onze anos. Jovem demais para ser levado a julgamento. Jovem demais para alguém acreditar que eu sabia o que estava fazendo.
— Mas tinham de fazer alguma coisa, com você.
— Quatorze meses num centro de reabilitação. Muita terapia, muitos conselhos, muita atenção, muitos abraços. Porque eu devia ter liquidado a pobre vovó, entende, por causa de minha dor reprimida pela morte acidental de meus pais naquele pavoroso incêndio. Um dia compreendi o que estavam tentando me dizer, e tratei de chorar, chorar muito. Ah, Chyna, como chorei, como me afligi em remorso pela pobre vovó. Os terapeutas e assistentes sociais ficaram felizes com meu desespero.
— Para onde foi ao sair de lá?
— Fui adotado.
Atônita, Chyna apenas ficou olhando para ele.
— Sei o que está pensando. Não são muitos os órfãos de doze anos que conseguem ser adotados. As pessoas em geral procuram bebês, para moldar à sua imagem. Mas eu era um menino muito bonito, Chyna, com uma beleza quase etérea. Pode acreditar nisso?
— Posso.
— As pessoas querem crianças bonitas. E com sorrisos simpáticos. Eu me mostrava meigo e encantador. A essa altura, já aprendera a me disfarçar melhor entre todos vocês, hipócritas. Nunca mais seria surpreendido com um gatinho ou uma avó morta.
— Mas quem... quem o adotaria depois do que fez?
— O que eu fiz foi retirado de minha ficha, é claro. Afinal de contas, eu era apenas um menino. Não esperava que toda a minha vida fosse arruinada só por causa de um erro, não é mesmo, Chyna? Os psiquiatras e assistentes sociais foram a graxa em minhas engrenagens, e sempre serei grato a eles por seu desejo doce e ansioso de acreditar.
— Seus pais adotivos não sabiam?
— Sabiam que eu ficara traumatizado pela morte de meus pais num incêndio, que o trauma levara a uma terapia, e que precisava ser observado à procura de sinais de depressão. Queriam muito tornar minha vida melhor, evitar que a depressão voltasse a me dominar.
— O que aconteceu com eles?
— Moramos em Chicago por dois anos, e depois nos mudamos para o Oregon. Deixei-os viver por algum tempo, deixei-os fingir que me amavam. Por que não? Os dois adoravam suas ilusões. Mas quando me formei, tinha vinte anos e precisava de mais dinheiro do que dispunha. Por isso, houve outro terrível acidente, outro incêndio à noite. Mas já se haviam passado onze anos desde o outro incêndio, o que matou meus verdadeiros pai e mãe, a meio continente de distância. Há anos nenhum assistente social me visitava, não havia nenhum registro de meu lamentável erro com a vovó, e ninguém fez nenhuma ligação entre os fatos.
Os dois ficaram em silêncio.
Depois de algum tempo, ele bateu no prato na frente de Chyna.
— Coma, coma — incentivou ele. — Vou jantar depois. Lamento não poder lhe fazer companhia.
— Acredito em você.
— Acredita em quê?
— Que nunca foi maltratado.
— Embora isso vá contra tudo o que lhe ensinaram. Boa menina, Chyna. Reconhece a verdade quando a ouve. Talvez ainda haja esperança para você.
— Não há como compreendê-lo — murmurou ela, falando mais para si mesma do que para ele.
— Claro que há. Estou apenas em contato com minha natureza reptiliana, Chyna. Ela existe em todos nós. Evoluímos daquele primeiro peixe com pernas que rastejou para fora do mar. A percepção de réptil... ainda persiste em todos nós, embora as pessoas, a maioria, se empenhe em escondê-la de si mesmas, em se convencer de que é limpa e melhor do que na verdade é. A ironia é que se reconhecessem sua natureza reptiliana encontrariam a liberdade e felicidade que todos procuram, frenéticos, e jamais alcançam.
Ele tornou a bater no prato e depois no copo de água. Levantou-se, ajeitou a cadeira junto à mesa.
— A conversa não foi exatamente como esperava, não é mesmo, Chyna?
— Não, não foi.
— Esperava que eu me equivocasse, que lamentasse por ser uma vítima, que me entregasse a ilusões bem elaboradas, revelasse alguma história de incesto aviltante. Queria acreditar que sua hábil sondagem poderia expor um fanatismo religioso secreto, trazer revelações de que ouço vozes divinas dentro da cabeça. Não esperava que eu me mostrasse tão simples assim. Tão franco.
Vess foi até a porta entre a cozinha e a sala de estar, depois virou-se para ela.
— Não sou o único, Chyna. O mundo está repleto de pessoas como eu — só que a maioria é menos livre. Sabe onde acho que muitos do meu tipo acabam?
Contra a vontade, ela perguntou:
— Onde?
— Na política. Imagine ter o poder de desencadear guerras, Chyna. Como isso seria gratificante. Claro que na vida pública é preciso renunciar, de um modo geral, ao prazer de executar pessoalmente, de ficar com as mãos sujas de todos aqueles fluidos maravilhosos. O político tem de se satisfazer com a emoção de mandar milhares de pessoas para a morte, destruir por controle remoto. Mas creio que eu poderia me adaptar a isso. E sempre haveria as fotos da zona de guerra, relatórios, tudo tão vivido quanto se quiser. E sem nunca, correr o risco de captura. Mais espantoso ainda: constroem monumentos a você. Pode bombardear um pequeno país numa devastação total, mas nem por isso deixam de oferecer jantares em sua homenagem. Pode matar trinta e quatro crianças numa comunidade religiosa, esmagá-las com tanques, queimá-las vivas, alegando que eram fanáticas perigosas — e depois se recostar ao som dos aplausos. Tamanho poder. Intensidade.
Ele olhou para o relógio.
Passavam uns poucos minutos das cinco horas.
Vou terminar de me vestir e depois sairei, Chyna. Voltarei depois da meia-noite, o mais depressa que puder. _ Vess balançou a cabeça externado pela visão de Chyna. - Incólume e viva. Que tipo de vida' é essa, Chyna? Nao e das que valem a pena. Entre em contato com sua percepção reptiliana. Aceite o frio e a escuridão. É onde estamos
Ele deixou-a ali, acorrentada, enquanto o crepúsculo invadia o mundo e a luz se retirava.
Mr. Vess sai para a varanda, tranca a porta da frente e depois assobia para os cachorros.
O dia esfria à medida que vai se aproximando do fim, o ar é revigorante. Ele puxa o zíper do blusão até o pescoço.
Os dobermans surgem dos quatro pontos cardeais, correm para a varanda. Enquanto se empurram para ficar mais perto de Vess, as enormes patas batem nas tábuas num fandango de satisfação canina.
Ele se ajoelha no meio dos cães, mais uma vez distribui sua afeição com a maior generosidade.
Estranhamente, assim como as pessoas, aqueles dobermans parecem ser incapazes de perceber a insinceridade do amor de Mr.Vess. São apenas instrumentos para ele, não animais de estimação, e a atenção que lhes dispensa é como o óleo 'três-em-um' com que de vez em quando lubrifica a furadeira, a lixadeira e a serra elétrica. No cinema, é sempre um cão que sente o potencial de lobisomem no homem que teme a lua e recebe-o com um rosnado, é sempre um cão que se esquiva do personagem que abriga secretamente em seu corpo um parasita alienígena. Mas o cinema não é a vida.
Os cães sem dúvida o estão enganando, assim como ele os engana. O amor deles não passa de respeito — ou medo sublimado.
Ele se ergue e os cães o fitam, apreensivos. Antes, haviam sido chamados do canil pela campainha; assim, estão agora apenas na condição de cercar-e-deter.
— Nietzche — diz Mr. Vess.
Como se fossem um só, os quatro dobermans estremecem e depois ficam estáticos. As orelhas primeiro se erguem à palavra de comando, depois se encolhem contra a cabeça.
Seus olhos negros brilham na penumbra do anoitecer.
Abruptamente, eles deixam a varanda, dispersando-se pela propriedade após receberem a ordem de assumir a condição de ataque.
Colocando o chapéu, Mr. Vess encaminha-se para o galpão, onde guarda o carro.
Deixa o trailer estacionado ao lado da casa. Mais tarde, para diminuir a distância pela qual os dois corpos terão de ser carregados, levará o veículo pelo caminho particular até bem perto da campina de sepulturas sem lápides.
Enquanto anda, Mr. Vess respira de modo lento e profundo, esvazia a mente, preparando-se para o retorno ao mundo do trabalho cotidiano.
Ele aprecia a farsa de sua segunda vida, passando por um dos reprimidos e iludidos que, em incontáveis multidões, dominam a Terra com mentiras, passam a vida em negação, ansiedade e hipocrisia. Ele é como uma raposa num cercado de galinhas com deficiência mental, incapazes de distinguir entre um predador e outra galinha, o que é um belo arranjo para uma raposa com senso de humor.
Todos os dias, o tempo todo, Vess pesa outras pessoas com os olhos, testa de maneira discreta sua firmeza com um toque amigável, aspira a fragrância sedutora de sua carne, selecionando-as como se escolhesse ave empacotada num supermercado. Não costuma matar com freqüência as pessoas que conhece em sua personalidade pública — apenas se tiver certeza absoluta de que pode escapar impune e se a galinha em questão prometer ser muito saborosa.
Se Chyna Shepherd não perturbasse sua rotina usual, Vess passaria mais tempo readaptando-se a seu papel de homem comum. Poderia assistir a um programa de prêmios na televisão, ler dois ou três capítulos de um romance de Robert James Waller e folhear um exemplar da revista People, a fim de se lembrar das coisas que a massa desesperada da humanidade usa para se anestesiar contra a percepção de sua verdadeira natureza animal e a inevitabilidade da morte. Poderia ter se postado diante do espelho por algum tempo, praticando o sorriso, estudando os olhos.
Mesmo assim, ao chegar ao galpão de cedro prateado, ele está confiante de que retomará sua segunda vida sem nenhuma dificuldade, e que todos aqueles que o fitarem nos olhos se sentirão reconfortados ao verem seus próprios rostos refletidos. A maioria das pessoas consumiu tanto esforço e tempo na negação de sua natureza predatória que não consegue se reconhecer nos outros com facilidade.
Ele abre a pequena porta ao lado do portão, hesita, olha para os fundos da casa. Deixou a mulher no escuro, por isso não consegue nem mesmo discernir suas formas vagamente, pela janela distante.
No entanto, o crepúsculo sombrio, sem sol, ainda proporciona claridade suficiente para que Chyna Shepherd, eminente psicóloga, o tenha visto ao se encaminhar para o balcão. Poderia estar observando naquele instante.
Mr. Vess se pergunta o que ela pensa a seu respeito naquela máscara nova e surpreendente. Deve estar chocada. Mais ilusões destruídas. Ao vê-lo a caminho de sua segunda vida, compreendendo que ele passa de fato por um cidadão respeitável, ela deve ter mergulhado num desespero mais profundo do que jamais conheceu.
Ele tem um jeito especial com as mulheres.
Depois que Vess apagou a luz e deixou a cozinha, Chyna recostou-se na cadeira de pinho, longe da mesa, porque o cheiro do sanduíche de presunto a nauseava. Não estava estragado; tinha o cheiro que todo sanduíche de presunto deve ter. Mas a simples idéia de comida lhe embrulhava o estômago.
Quase vinte e uma horas haviam transcorrido desde que terminara a sua mais recente refeição completa, o jantar na casa dos Templeton. O pouco da omelete de queijo que comera no desjejum não era suficiente para sustentá-la, ainda mais levando-se em consideração toda a atividade física da noite anterior; devia estar faminta.
No entanto, comer era uma admissão de esperança, e ela não queria ter mais nenhuma esperança. Passara a vida esperando, uma tola inebriada por expectativas otimistas, mas cada esperança provara ser vazia como uma bolha. Cada sonho era vidro esperando para ser quebrado.
Até a noite passada, ela pensara que subira para longe do sofrimento da infância, por uma escada ensebada, para alturas fenomenais de compreensão, sentindo um orgulho sereno de si mesma e de seus feitos. Agora, parecia que não subira coisa alguma, que a ascensão não passara de ilusão, e que há anos seus pés escorregavam em dois degraus bem lubrificados, como se estivesse numa dessas máquinas de ginástica, consumindo uma enorme quantidade de energia — mas nem um centímetro mais alto quando parava do que no momento em que começava. Os longos anos a servir mesas, as pernas doloridas e a dor persistente nas costas, de passar tantas horas de pé, assistindo às aulas mais difíceis que podia encontrar na Universidade da Califórnia, estudando até tarde da noite depois de voltar do trabalho, os incontáveis sacrifícios, a solidão, a luta incessante, o esforço — tudo isso a trouxera até aqui, a este lugar sinistro, a estas correntes, a este crepúsculo que se aprofunda.
Esperara um dia compreender a mãe, encontrar boas razões para perdoá-la. Até esperara, secretamente, que Deus a proteja, que um dia pudessem chegar a uma trégua. Nunca poderiam ter um relacionamento saudável de mãe e filha e nunca poderiam ser amigas, mas parecia possível, pelo menos, que ela e Anne pudessem um dia almoçar juntas, em algum restaurante com uma vista para o mar, sentadas no pátio, sob um enorme guarda-sol. Não falariam do passado, teriam apenas uma conversa descontraída sobre filmes, o tempo, a maneira como as gaivotas circulavam sobre o céu de safira, talvez sem nenhum afeto curativo, mas também sem ódio entre as duas. Sabia agora que mesmo que escapasse daquela prisão, por algum milagre, jamais alcançaria esse sonhado grau de compreensão; a reaproximação com sua mãe não era viável.
A crueldade e traição humanas superavam toda e qualquer compreensão. Não havia respostas. Apenas desculpas.
Chyna sentia-se perdida. Estava num lugar mais estranho do que a cozinha de Edgler Vess, numa escuridão mais assustadora.
Em todos os seus anos, nunca antes se sentira perdida, não perdida de verdade. Assustada, sim. As vezes confusa e desolada. Mas sempre mantivera um mapa em sua mente, com um percurso marcado, embora vagamente, e acreditara que em seu coração havia uma bússola que não podia falhar. Estivera no lugar errado muitas vezes, mas sempre com a certeza de que havia uma saída — assim como em todo e qualquer labirinto de espelhos há sempre um caminho seguro pelas infinitas imagens da pessoa, pelos reflexos mais assustadores, por todas as enigmáticas sombras prateadas. Só que não havia mapa desta vez. Nem bússola.
A própria vida era o supremo labirinto de espelhos, e ela encontrava-se perdida em suas câmaras, sem ninguém a quem recorrer em busca de conforto, sem nenhuma mão para segurar.
Finalmente admitindo que basicamente não tivera mãe desde o dia em que nascera e nunca teria, e com sua única amiga verdadeira morta no trailer de Edgler Vess, Chyna desejou saber o nome de seu pai, contemplar seu rosto pelo menos uma vez. Shepherd era o nome de solteira de sua mãe; ela nunca fora casada.
— Devia ficar feliz por ser ilegítima, meu bem — dissera Anne. — Isso significa que é livre. As crianças bastardas não têm tantos parentes grudando como sanguessugas psíquicas, sugando sua alma.
Ao longo dos anos, quando Chyna perguntava pelo pai, Anne dizia apenas que ele morrera, e era capaz de falar com os olhos secos, até mesmo num tom despreocupado. Não fornecia detalhes sobre sua aparência, não dizia em que ele trabalhava, não revelava onde ele morava, nem mesmo reconhecia que ele tinha um nome.
— Quando descobri que estava grávida de você, já não saíamos mais juntos — dissera Anne uma ocasião. — Ele era passado. Nunca contei a ele sobre você. Ele nunca soube.
Chyna gostava às vezes de sonhar com o pai. Imaginava que a mãe mentira a respeito, como mentira sobre tantas outras coisas, e que seu pai continuava vivo. Era muito parecido com Grego ry Peck em O sol é para todos, um homem grande, de olhos gentis, fala suave, bem-humorado, com um intenso senso de justiça, certo de quem era e de tudo em que acreditava. Seria um homem admirado e respeitado pelas pessoas, mas que não se considerava mais especial do que os outros. E a amaria.
Se soubesse o nome dele, o primeiro ou o último, ela o diria agora, em voz alta. O mero som do nome de seu pai a confortaria.
Ela estava chorando. Em todas aquelas horas desde que fora dominada por Vess, sentira as lágrimas aflorando mais de uma vez, mas tratara de reprimi-las. Mas não conseguia agora represar aquele fluxo quente. Desprezou a si mesma por chorar... mas apenas por um breve instante. Aquelas lágrimas amargas eram uma confissão bem-vinda de que não havia esperança para ela. Livravam-na da esperança, e era isso o que queria agora, porque a esperança só levava ao desapontamento e à dor. Durante toda a sua vida conturbada, desde o oitavo aniversário, recusara-se a chorar livremente, a soltar as lágrimas para valer. Ser firme e não chorar era a única maneira de obter respeito das pessoas que, ao verem a menor fraqueza em outra, adquiriam um brilho assustador nos olhos e se .aproximavam, como chacais em torno de uma gazela com a perna quebrada. Mas reter as lágrimas não afastaria o chacal que prometera voltar depois da meia-noite, e uma vida inteira de pesar e mágoa irrompeu em seu peito. Enormes soluços sacudiram Chyna, a tal ponto que o peito começou a doer mais do que o pescoço e o dedo. A garganta parecia em carne viva.
Ela curvou-se com as correntes retinindo, na cadeira que a aprisionava, o rosto contraído e quente, as lágrimas escorrendo, o estômago embrulhado e frio, o gosto de sal na boca, ofegando e gemendo em desespero, sufocando-se com a consciência de sua terrível solidão. Estremeceu incontrolavelmente, as mãos se fecharam num espasmo, viraram punhos frágeis, mas depois se abriram e tatearam o ar em torno de sua cabeça, como se sua angústia fosse um capuz que pudesse ser arrancado e descartado. Profundamente sozinha, sem amor e perdida, ela mergulhou em um labirinto mental de espelhos, sem ter sequer o nome do pai para confortá-la.
Depois de algum tempo, um motor rugiu. Ela ouviu o toque estridente de uma buzina: duas buzinadas curtas, depois mais duas.
Chyna levantou a cabeça, olhou pela janela próxima, avistou os faróis de um carro deixando o galpão. Sua visão era prejudicada pelas lágrimas. Não conseguiu ver direito o carro, enquanto este passava pela casa sob o crepúsculo cinza, mas só poderia estar sendo guiado por Vess. E logo desapareceu.
O toque alegre da buzina zombava dela, mas o escárnio não foi suficiente para reavivar sua raiva.
Ela olhou para a penumbra e não se importou que pudesse ser o último anoitecer que veria. Só se importava de ter passado tempo demais dos seus vinte e seis anos sozinha, sem ninguém a seu lado para partilhar o pôr-do-sol, o céu estrelado, a beleza turbulenta das nuvens de tempestade. Desejou ter procurado mais as pessoas em vez de se retirar para seu íntimo, desejou não ter convertido seu coração num armário aconchegante. Agora, quando nada mais importava, quando essa nova percepção de nada poderia lhe adiantar, ela compreendia que havia menos esperança de sobrevivência sozinha do que acompanhada. Tinha plena consciência de que o terror, a traição e a crueldade possuíam um rosto humano, mas não percebera que a coragem, a bondade e o amor também tinham. A esperança não era uma pequena indústria artesanal; também não era um produto que se podia fabricar, como bordados, nem uma substância que ela podia esconder, em sua cautelosa solidão, como um bordo produzindo a essência do melaço. A esperança devia ser encontrada em outras pessoas, procurando, assumindo riscos, abrindo a fortaleza de seu coração.
Essa percepção parecia tão óbvia, a mais simples sabedoria, mas ela só conseguia alcançá-la in extremis.
E há muito passara a oportunidade de agir com base nisso. Morreria como vivera — sozinha. Essa conclusão adicional poderia ter lhe provocado rios de lágrimas ainda maiores, mas em vez disso levou-a a um lugar mais desolado do que qualquer outro em que já estivera antes, um jardim interior de pedras e cinzas.
Então, enquanto ainda olhava pela janela, percebeu alguma coisa se deslocando, ao final do crepúsculo. Embora sua vista ainda estivesse meio embaçada pelas lágrimas, constatou que era grande demais para ser um doberman.
Mas se Vess fora embora, como podia ser um homem?
Chyna esfregou os olhos na manga e piscou até que aquela forma misteriosa emergisse das lágrimas e das sombras do crepúsculo. Era um alce. Sem chifres. Uma fêmea.
Atravessou o pátio dos fundos, vindo das colinas cobertas de árvores a oeste, parou duas vezes para abocanhar a relva suculenta. Como Chyna aprendera durante os meses que passara no rancho no Condado de Mendocino, há muitos anos, aqueles eram animais muito sociais e sempre viajavam em bandos, mas aquele parecia sozinho.
Os dobermans deviam estar à procura do intruso, latindo e rosnando, excitados pela perspectiva de sangue. Com toda certeza, os cães poderiam farejá-lo, mesmo nos cantos mais distantes da propriedade. Contudo, os dobermans não estavam à vista.
E o alce também deveria sentir o cheiro dos cães e correr em busca de segurança, os olhos desvairados, bufando. A natureza fizera de sua espécie gentil uma presa para pumas, lobos e matilhas de coiotes; por ser o 'jantar-sobre-cascos' de muitos predadores, o alce sempre se mantinha vigilante e cauteloso.
Mas aquele espécime parecia inteiramente despreocupado com a presença dos cães nas proximidades. Exceto por duas breves pausas para pastar na relva viçosa, seguiu direto até a varanda dos fundos, sem qualquer sinal de nervosismo.
Embora Chyna não fosse especialista em vida selvagem, aquele lhe parecia um alce costeiro, do mesmo tipo que encontrara no bosque de sequóias. A pelagem era marrom-acinzentada, tinha as manchas brancas e pretas familiares no corpo e na cabeça, mas ela sabia que aquele lugar ficava longe demais do mar para ser um abrigo apropriado para o alce costeiro, com a vegetação ideal para a sua dieta. Lembrava-se de ter visto montanhas ao redor quando saíra do trailer. Agora a chuva cessara e a neblina se dissipara; a oeste, onde o resto de claridade do dia se desvanecia depressa, as silhuetas escuras de picos altos se delineavam contra as nuvens e o céu, com tonalidades purpúreas. Com uma cordilheira tão grande a separar aquele lugar do Oceano Pacífico, o alce costeiro não poderia ter chegado tão longe no interior do continente, pois era uma espécie característica das planícies e colinas suaves. Aquele devia ser um tipo diferente de alce, embora tivesse uma coloração muito parecida com a dos animais que vira na noite anterior.
A imponente criatura parou junto à balaustrada de madeira da varanda, a menos de três metros de distância, olhando diretamente para a janela. Para Chyna.
Ela achava difícil que o alce pudesse enxergá-la. Com as luzes apagadas, a cozinha estava mais escura do que o crepúsculo em que o animal se encontrava. De sua perspectiva, o interior da casa deveria estar todo negro.
Contudo, Chyna não pôde negar que seus olhos se encontraram com os dela. Olhos grandes e escuros, brilhando suavemente.
Ela se lembrou do súbito retorno de Vess à cozinha naquela manhã. Ele se mostrara inexplicavelmente tenso, revirando a chave de fenda na mão, com um brilho estranho nos olhos. E fizera várias perguntas sobre os alces do bosque de sequóias.
Chyna não sabia por que os alces importavam tanto para Vess, assim como também não podia imaginar por que aquele se postava ali, naquele momento, indiferente aos cães, observando-a pela janela. Mas não ficou muito tempo remoendo o mistério. Estava num ânimo de aceitar, experimentar, admitir que a compreensão nem sempre era viável.
Enquanto o céu purpúreo se tornava anil e depois nanquim, os olhos do alce foram se tornando pouco a pouco mais luminosos. Não eram vermelhos como os olhos de alguns animais à noite, mas dourados.
Lufadas de vapor saíam ritmadamente de suas narinas pretas e úmidas.
Sem romper o contato visual com o animal, Chyna comprimiu as partes internas dos pulsos o melhor que podia, com as algemas atrapalhando. As correntes de aço retiniram: todos os elos entre ela e a cadeira em que se sentava, entre ela e a mesa, entre ela e o passado.
Lembrou-se de seu juramento, no início do dia, de se matar antes de testemunhar a total destruição mental da garota no porão. Acreditara que seria capaz de encontrar coragem para abrir as veias dos pulsos com os dentes e sangrar até a morte. A dor seria intensa, mas relativamente breve... e depois ela passaria sonolentamente de uma escuridão para outra, que seria eterna.
Ela parará de chorar. Tinha os olhos secos.
Seus batimentos cardíacos eram surpreendentemente lentos, como os de uma pessoa dormindo, no repouso sem sonhos proporcionado por um poderoso sedativo.
Ergueu as mãos diante do rosto, inclinando-as para trás o máximo possível e abrindo os dedos, a fim de continuar a fitar os olhos do alce.
Levou a boca ao ponto no pulso esquerdo que teria de morder. Sua respiração era quente na pele fria.
A luz do dia se desvanecera por completo. As montanhas e o céu eram como uma vasta onda negra num mar noturno, descendo para afogá-la.
A cara do alce, em formato de coração, mal era visível à distância de menos de três metros. Seus olhos, no entanto, faiscavam.
Chyna encostou os lábios no pulso esquerdo. No beijo, ela sentiu a pulsação perigosamente firme.
Pela escuridão, ela e o alce sentinela continuaram a se fitar. Chyna não sabia se a criatura a hipnotizara ou o contrário.
Ela comprimiu os lábios contra o pulso direito. A mesma frieza na pele, a mesma pulsação grave.
Abrindo os lábios, Chyna usou os dentes para beliscar a pele. Parecia, haver tecido suficiente entre os incisivos para fazer um rasgão mortal. E, com toda certeza, seria bem-sucedida se mordesse uma segunda e uma terceira vez.
Prestes a morder, ela compreendeu que isso não exigia nenhuma coragem. Era exatamente o oposto. Não morder era um ato de valor.
Mas não se importava com o valor, pouco ligava para a coragem. Ou qualquer outra coisa. Só se preocupava em acabar com sua solidão, a dor, a sensação angustiante e vazia de inutilidade.
E a garota. Ariel. Naquela escuridão abominável, silenciosa e sinistra.
Por algum tempo, Chyna manteve-se posicionada para a mordida fatal.
Entre as batidas solenes e compassadas, o coração tinha a quietude de águas profundas.
Depois, sem ter consciência do momento em que os dentes soltaram a pele, Chyna percebeu que os lábios se comprimiam de novo contra o pulso intacto. E pôde sentir a lenta pulsação nesse beijo de vida.
O alce desaparecera.
Totalmente.
Chyna surpreendeu-se ao ver apenas escuridão onde a criatura estivera. Não acreditava que tivesse fechado os olhos, e sequer piscara. Mas devia ter entrado em algum tipo de transe, porque o imponente alce sumira na noite tão misteriosamente quanto uma assistente de mágico se desmaterializa por trás de uma capa preta.
E de repente seu coração passou a bater forte e depressa.
— Não — sussurrou ela, na cozinha escura.
A palavra era ao mesmo tempo uma promessa e uma prece. O coração, como uma roleta — girando, em alta velocidade —, tirou-a do cinza interior em que estivera perdida, levando-a daquela desolação para uma paisagem mais brilhante.
— Não. — Agora havia um tom de desafio em sua voz, que não mais saía num sussurro. — Não.
Ela sacudiu as correntes, como se fosse um cavalo arisco tentando se livrar dos arreios.
— Não, não, não. Merda, não.
Seus protestos eram suficientemente altos para que a voz ressoasse pelas superfícies lisas da geladeira, o vidro da porta do forno, os balcões de ladrilhos.
Ela tentou se desvencilhar da mesa para levantar, mas uma volta da corrente prendia a cadeira ao barril que sustentava o tampo, limitando seus movimentos.
Mesmo que fincasse os calcanhares no chão de ladrilhos de vinil e tentasse dar um impulso para trás, provavelmente não conseguiria se mover. Na melhor das hipóteses, apenas arrastaria a pesada mesa, centímetro a centímetro. E mesmo que tentasse a vida inteira, não seria capaz de pôr tensão suficiente na corrente para parti-la. Mas foi intransigente na rejeição à rendição.
— Não, de jeito nenhum, não — teimou ela, as palavras saindo por entre os dentes semicerrados.
Inclinou-se para a frente, puxando a corrente que passava por suas costas, entre a algema direita e a esquerda. Passava entre as grades do encosto, por trás da almofada. Ela esticou-se toda, esperando ouvir a madeira rachar, puxou com força, mais força ainda, e a dor intensa parecia um ferro em brasa no seu pescoço; a agonia do golpe ressurgiu na nuca e no lado direito do rosto, mas não permitiria que a dor a detivesse. Puxou com mais força que nunca, arranhando o belo móvel com toda certeza, e de novo, — força, força. — por várias vezes, mantendo firme a cadeira com o peso de seu corpo, ao mesmo tempo que quase a erguia do chão ao puxar violentamente as grades do encosto. Puxou novamente, até seu bíceps doer. Força. Enquanto ela grunhia de esforço e frustração, pontadas de dor percorriam sua nuca, estendiam-se pelos ombros e braços. Forçai Pondo tudo o que tinha naquele esforço, por mais tempo do que antes, os dentes tão cerrados que os músculos dos maxilares começaram a tremer, ela puxou mais uma vez, até sentir as artérias pulsando nas têmporas, até ver pontos de luz vermelhos e prateados girando por trás das pálpebras. Mas não foi recompensada com nenhum som de madeira partindo. A cadeira era sólida, as grades grossas, todas as junções bem feitas.
Seu coração trovejava, em parte por causa do esforço, mas também porque transbordava com uma sensação inebriante de libertação. O que era absurdo, um absurdo total, porque continuava acorrentada, tão longe de romper os grilhões quanto em qualquer outro momento desde que despertara naquela cadeira. Contudo, sentia-se como se já tivesse escapado e apenas esperasse que a realidade a alcançasse com a liberdade que desejava.
Ficou quieta, ofegante, pensando.
O suor escorria na testa.
Esqueça a cadeira por enquanto. Para se soltar, teria de ficar de pé e se movimentar. Não poderia cuidar da cadeira enquanto não se livrasse da mesa.
Não dava para se inclinar o suficiente e abrir o cadeado que prendia a corrente mais curta entre os tornozelos à corrente mais comprida, que a prendia à cadeira e à mesa. Caso contrário, poderia com facilidade libertar as pernas dos dois móveis.
Se pudesse virar a mesa, a volta da corrente que contornava seu suporte deslizaria da base do barril. Ou será que não? Sentada no escuro, ela não conseguia visualizar direito a mecânica do que pretendia fazer, mas achava que virar a mesa de lado era a melhor estratégia.
Infelizmente, a cadeira à sua frente, aquela em que Vess se sentara, era um empecilho que provavelmente impediria a mesa de virar. Tinha de se livrar da cadeira, abrir espaço. No entanto, acorrentada como estava e com o barril na frente, não conseguiria esticar as pernas o suficiente para alcançar a cadeira e empurrá-la para o lado.
Por fim, ela tentou arrastar sua cadeira para trás, na esperança de puxar a mesa para longe da cadeira de Vess. A corrente em torno do suporte ficou esticada. Enquanto empurrava para trás, com os calcanhares fincados no chão, o móvel parecia pesado demais para ser arrastado, e ela se perguntou se o barril não estaria cheio de areia, para evitar que a mesa virasse, mas depois o barril rangeu e se deslocou por uns poucos centímetros sobre os ladrilhos, sacudindo o prato do sanduíche e o copo com água em cima da mesa.
Era um trabalho mais árduo do que ela previra. Tinha a impressão de que participava de um daqueles programas de televisão dedicados a façanhas diversas e estúpidos desafios físicos, como arrastar um vagão ferroviário. Um vagão carregado. Apesar de tudo, a mesa se deslocou, com evidente relutância. Poucos minutos depois, quando fez duas pausas para recuperar o fôlego, ela parou, preocupada com a possibilidade de estar quase encostando na parede entre a cozinha e a lavanderia; precisava deixar espaço livre para manobrar. Embora fosse difícil calcular a distância no escuro, ela achava que havia arrastado a mesa cerca de um metro, o suficiente para afastar-se da cadeira de Vess.
Ela pôs as mãos algemadas por baixo da mesa, tentando resguardar o dedo machucado, e fez força. Pesava muito mais do que ela — um tampo de pinho com cinco centímetros de espessura, as grossas aduelas do barril que o sustentava, os aros de ferro preto em torno das aduelas, talvez aquele saco de areia — e não conseguia aplicar uma pressão de alavanca, já que era obrigada a permanecer sentada. O fundo do barril inclinou-se dois centímetros, depois três ou quatro. O copo virou, derramando a água, rolou para o outro lado, caiu da mesa e se espatifou no chão. Todo aquele barulho dava a impressão de que seu plano funcionava — "Isso!" ela sibilou -—, mas depois, por subestimar o peso do barril e o esforço exigido para deslocá-lo, teve de fazer uma pausa, e ele voltou para o chão.
Chyna flexionou os músculos, respirou fundo e voltou ao trabalho no instante seguinte. Dessa vez firmou os pés tão separados quanto a corrente permitia. Encostou as palmas na parte de baixo do tampo, os polegares enganchados na beirada arredondada. Contraiu as pernas e os braços; ao empurrar a mesa, empurrou com as pernas também, erguendo-se, um centímetro de cada vez, enquanto a mesa se inclinava para cima e para a frente. Não havia folga suficiente nas correntes para que conseguisse ficar ereta, por isso ela ergueu-se encurvada, numa posição difícil e incômoda, sob o peso da mesa. Fez uma tremenda força com os joelhos e coxas, resfolegando, estremecendo com o esforço, mas persistiu, pois a cada precioso centímetro que a mesa era erguida melhorava a ação de alavanca; estava usando todo o seu corpo para levantar, levantar, levantar.
O prato do sanduíche e o saco de batatas fritas deslizaram para o chão. A porcelana quebrou, as batatas fritas espalharam-se pelo chão, produzindo um som aflitivo, como ratos correndo.
A dor no pescoço era terrível, e alguém parecia torcer um saca-rolhas em sua clavícula direita. Mas a dor não podia detê-la. Ao contrário, motivava-a. Quanto maior a dor, mais ela se identificava com Laura e toda a família Templeton, com o rapaz pendurado no closet do trailer, com os empregados do posto de gasolina e com todas as pessoas que podiam estar enterradas na campina; e quanto mais se identificava com todos, mais queria que Edgler Vess arcasse com um mundo de sofrimentos. Seu ânimo era do Antigo Testamento, não estava disposta a oferecer a outra face naquele momento. Desejava que Vess gritasse numa câmara de torturas, sendo puxado pelos braços e pernas até as articulações se desprenderem, os tendões se romperem. Não queria vê-lo confinado a um manicômio judiciário, para ser analisado, aconselhado e instruído sobre a melhor maneira de aumentar a auto-estima, tratado com uma ampla variedade de drogas antipsicóticas, num quarto particular com televisão, inscrito em torneios de baralho com os outros pacientes, comendo peru no Natal, Em vez de vê-lo entregue à misericórdia de psiquiatras e assistentes sociais, Chyna queria condená-lo às mãos hábeis de um torturador imaginativo. Descobriria então por quanto tempo o filho da puta anormal permaneceria fiel à sua filosofia de que todas as experiências tinham um valor neutro, todas as sensações valiam a pena. Esse desejo fervoroso, nascido da dor de Chyna, nada tinha de nobre, mas era puro, um combustível de alta octanagem que queimava com uma luz intensa e mantinha seu motor em funcionamento.
Aquele lado do barril erguera-se do chão sete ou oito centímetros — era apenas um cálculo — mais ou menos o que ela conseguira antes, mas ainda lhe restava bastante energia. Encurvada, torcida para trás como um duende amaldiçoado por Deus, ela continuou a levantar a mesa, os joelhos doendo, as coxas tremendo com o esforço, as nádegas mais contraídas e rígidas. Tratou de se estimular, em voz alta, falando para a mesa como se esta fosse uma coisa viva:
— Vamos, vamos, vamos, mexa-se, merda, merda, vamos, sua filha da puta, mais alto, vamos, sua porra, mexa-se.
Uma ridícula imagem mental de si mesma aflorou em sua mente: devia estar parecendo um personagem num daqueles filmes em que o caubói descobre que foi enganado e vira a mesa de pôquer em cima do jogador desonesto, só que representava a cena em câmera lenta, como se fosse um bangue-bangue submarino.
No início, a cadeira permaneceu na mesma posição em que se encontrava quando o traseiro de Chyna se ergueu, mas depois, à medida que os braços se erguiam mais e se esticavam mais à frente, a pesada cadeira foi içada do chão pela corrente que passava por trás dela, de um pulso ao outro. Agora ela levantava a mesa na frente e a cadeira por trás. A beirada dura do assento comprimia-se contra suas coxas e a parte superior do encosto fazia uma terrível pressão sob suas omoplatas, e a cadeira agia como uma tenaz que tentava impedi-la de se erguer ainda mais.
Mesmo assim, Chyna esmagou-se contra a mesa enquanto a levantava, separando-se o suficiente da cadeira para se elevar da posição agachada por mais um centímetro, depois outro. Nos limites extremos de sua força e resistência, ela grunhia alto, e ritmadamente. O suor cobria seu rosto, ardia nos olhos, mas de qualquer modo não havia luz na cozinha, nenhuma razão para que ela tivesse de ver o que fazia para poder fazer. Os olhos ardendo não a incomodavam, essa dor era pequena; mas ela sentia que estava prestes a romper um vaso sangüíneo devido ao esforço, ou desprender algum coágulo de uma parede arterial e impulsioná-lo para o cérebro.
O medo voltou a invadi-la, pela primeira vez em horas, porque mesmo enquanto levantava a mesa não podia deixar de pensar no que Edgler Vess faria se voltasse para casa e a encontrasse caída no chão, atordoada e incoerente, vítima de um derrame. Com a mente reduzida a uma mera massa cinzenta, já não seria um brinquedo sofisticado; não teria reações suficientes para lhe proporcionar as emoções desejadas quando a torturasse. Talvez então Vess voltasse às toscas brincadeiras com tartarugas de sua infância. Poderia arrastá-la para o quintal dos fundos e pôr fogo nela, pelo prazer de observá-la rastejar em círculos, com pernas e braços em chamas.
A mesa tombou, com impacto suficiente para sacudir a louça nos armários e uma vidraça solta na janela.
Embora estivesse se esforçando ao máximo para alcançar esse resultado, Chyna ficou tão surpresa pelo sucesso abrupto que não gritou pela conquista. Encostou-se na curva da mesa virada, a respiração ofegante.
Meio minuto depois, quando tentou puxar a corrente, descobriu que ainda estava enrolada no barril e que ela permanecia presa.
Puxou com força, para tentar desprendê-la. Não teve sorte. -.
Ficou de quatro, carregando a cadeira nas costas, enfiou-se por baixo da mesa inclinada, como se estivesse na praia, procurando a sombra de um enorme guarda-sol. No escuro, tateou pelo fundo do barril que servia de suporte e descobriu que essa parte do trabalho ainda não estava concluída.
A mesa estava caída de lado, como um cogumelo com uma copa imensa, o caule encostado no chão. Por causa da posição em que tivera de trabalhar, ela não conseguira virar o móvel por completo, com o suporte para cima. Todo o fundo do barril, por dentro do javre, estava exposto, mas uma parte da corrente ficara presa entre o chão e a lateral do barril.
Chyna fez um esforço para ficar de pé, com a cadeira nas costas, mas só conseguiu alcançar uma posição meio agachada. Estendeu as mãos, firmou os dedos no javre, fez uma pausa para ganhar força e puxou para cima.
Embora tentasse resguardar o dedo machucado, as mãos suadas escorregaram no aro de ferro pintado. As pontas dos dedos da mão direita chocaram-se contra o fundo áspero do barril, e uma dor tão intensa se irradiou do dedo inchado que ela soltou um grito de agonia atordoada.
Manteve-se por algum tempo agachada, comprimindo a mão ferida contra o seio, num gesto protetor, esperando que a dor passasse. Por fim, diminuiu um pouco.
Depois de enxugar as mãos no jeans, ela tornou a enganchar os dedos ao longo do javre, hesitou, e o barril se ergueu do chão, um centímetro, dois centímetros. Com o pé esquerdo, ela empurrou a corrente até soltá-la, e só depois deixou o pedestal cair de novo.
Ela recuou com a cadeira, e dessa vez nada a conteve. A corrente retiniu ao ser arrastada pelo chão, solta da mesa.
A cadeira bateu na parede que separava a cozinha da lavanderia. Chyna deslocou-se de lado, saindo de trás da mesa na direção da janela, que era um tênue retângulo cinza entre a cozinha apagada e a noite um pouco menos escura.
Embora ainda longe de estar livre, mais longe ainda de estar sã e salva, Chyna alegrou-se, porque pelo menos fizera alguma coisa. Uma dor de cabeça que parecia uma maré interminável pulsava em ondas ao longo de sua testa e têmpora direita, e a dor no pescoço era terrível. O dedo indicador direito inchado era um mundo de sofrimento por si só. Apesar das meias grossas, os tornozelos doíam como se estivessem machucados e esfolados pelas correntes. O pulso esquerdo ardia no ponto em que o esfolara ao tentar arrancar as grades do encosto da cadeira. As articulações doíam e os músculos tremiam do esforço que lhes fora exigido, e havia um ponto no lado esquerdo do corpo que repuxava como se uma agulha em brasa tivesse sido enfiada ali — ainda assim Chyna sorria, exultante.
Quando chegou ao lado da janela, ela deixou as pernas da cadeira tocarem no chão. Sentou-se.
Enquanto os batimentos cardíacos diminuíam suas marteladas frenéticas, ela recostou-se na almofada, ainda respirando com dificuldade, e surpreendeu-se soltando uma risada. E foi uma risada musical, inesperadamente infantil, uma explosão espantosa, em parte de satisfação, em parte de alívio nervoso.
Limpou os olhos ardidos de suor com uma das mangas, depois com a outra. Com as mãos algemadas, afastou os cabelos curtos do rosto, um tanto desajeitada.
Enquanto soltava uma risada mais suave, mais contida, ela detectou um movimento pelo canto do olho direito. Virou o rosto para a janela, pensando, feliz: "O alce".
Um doberman a fitava.
Havia poucas estrelas, a lua ainda não aparecera pelas aberturas entre as nuvens e o cão era preto. No entanto, estava bem visível, porque tinha o focinho pontudo a poucos centímetros do rosto de Chyna, sem nada entre os dois, exceto o vidro. Os olhos negros do animal eram frios e impiedosos, lembrando um tubarão em sua concentração firme, vidrada. Inquisitivo, o doberman comprimiu o focinho úmido contra o vidro.
Um ganido fino escapou do cão, audível mesmo através do vidro: não era uma lamúria de medo nem uma súplica por atenção, mas um uivo necessário, que expressava com perfeição a paixão sanguinária nos olhos do animal.
Chyna não estava mais rindo.
O cão saiu da janela, sumiu de sua vista.
Ela ouviu as patas nas tábuas, como se o animal andasse apressado de um lado para outro da varanda. Entre os ganidos urgentes, ele produzia um som raivoso.
Depois o cão tornou a saltar, pondo as patas dianteiras no peitoril da janela, fitando-a nos olhos mais uma vez. Agitado, mostrou os dentes compridos ameaçadoramente, mas não latiu nem rosnou.
Talvez o som do copo se espatifando no chão ou da mesa caindo de lado tivesse se propagado pelo quintal, e aquele doberman se encontrava perto o bastante para ouvir. Era possível que o cão estivesse naquela janela há algum tempo, escutando Chyna alternar os palavrões contra os grilhões e murmúrios de encorajamento, enquanto envidava todos os esforços para se livrar da mesa; e, com toda certeza, ouvira sua risada. Os cães tinham uma péssima visão, e aquele não seria capaz de ver seu rosto, muito menos a confusão na cozinha. Mas possuíam um olfato excepcional, e talvez o doberman captasse o cheiro de seu súbito suor pela janela — e ficara alerta por isso.
A janela tinha cerca de dois metros de comprimento e um metro e vinte de altura, dividida em dois painéis corrediços. Era óbvio que não fazia parte da arquitetura original; parecia ter sido acrescentada numa reforma relativamente recente. Se houvesse numerosas vidraças menores, separadas por fasquias de madeira resistentes, Chyna se sentiria mais confiante. Mas qualquer das duas placas de vidro era grande o bastante para permitir a passagem do doberman, se tentasse alcançá-la de qualquer maneira.
Mas é claro que isso não aconteceria. Os cães haviam sido treinados para patrulhar a propriedade, não para invadir a casa.
Os dentes à mostra eram perolados, vagamente luminosos, acinzentados no escuro: um sorriso largo, mas sem nenhum humor.
Em vez de fazer movimentos bruscos provocadores, Chyna esperou até que o doberman saísse de novo da janela antes de se inclinar para o chão e pegar o excesso de corrente, a fim de não tropeçar nela. Sempre escutando o cão andar de um lado para outro da varanda, levantou-se na posição meio encurvada de Rumpelstiltskin — o anão dos contos populares alemães — que o fardo da cadeira lhe impunha. Contornou a cozinha, permanecendo perto das paredes e armários, tateando o caminho o melhor que podia, algemada e com uma das mãos segurando o excesso de corrente. Arrastava os pés mais do que as correntes nos tornozelos exigiam, esperando assim empurrar para o lado os cacos do copo e do prato, em vez de pisar neles.
Ao chegar à porta que separava a cozinha da sala da frente, encontrou * o interruptor, mas hesitou em acender a luz. Olhou para trás e avistou o -doberman na janela de novo, e desejou poder deixar a cozinha no escuro.
Mas precisava revistar as gavetas e por isso acendeu a luz. Na janela, o doberman contraiu-se todo, as orelhas abaixadas contra o crânio, mas logo tornou a erguê-las; ele encontrou-a com os olhos e tratou de paralisá-la com o olhar.
Chyna ignorou o doberman. Inclinou-se para a frente, até onde as correntes lhe permitiam, levantando a cadeira nas costas. Esforçou-se para alcançar o cadeado que prendia a corrente mais .curta à outra mais longa que contornara o pedestal da mesa e ainda a ligava à cadeira. Mas mesmo livre da mesa, fora acorrentada de tal maneira que não conseguia agora alcançar esse engate.
Ela voltou pelo mesmo caminho, ao longo dos armários. Abriu uma gaveta após outra, estudando o conteúdo.
Ao passar pela tomada do telefone na parede, parou para examiná-la, frustrada. Se Edgler Vess tinha outra vida que não a de 'aventureiro homicida', com um emprego e a vida social que fosse necessária para encobrir sua verdadeira natureza, devia ter um telefone; a tomada não seria apenas uma coisa sem uso deixada pelos proprietários anteriores. Ele devia esconder o aparelho.
Para um assassino psicótico, em certo sentido completamente descontrolado, Vess era surpreendentemente cuidadoso e metódico quando se tratava de encobrir seu rastro. Um agente do caos, deixando para trás os escombros nas vidas dos outros, ele cuidava de seus afazeres de maneira impecável e evitava erros.
Ela abriu algumas portas de armários e espiou, mas só encontrou panelas, potes, copos e pratos. Logo desistiu do telefone, quando refletiu que Vess, ao se dar ao trabalho de desligá-lo e guardá-lo, devia escondê-lo fora da cozinha, em algum lugar improvável de ser encontrado, mesmo que ela tivesse horas para devotar à busca.
Continuou a abrir gavetas. Na quarta descobriu uma bandeja de plástico dividida em compartimentos, contendo uma coleção de pequenos instrumentos culinários.
Postou a cadeira ao lado da gaveta aberta e sentou-se.
Lá fora, o doberman voltara a andar de um lado para outro, as patas batendo mais depressa do que antes, quase correndo na varanda, e também ganindo cada vez mais alto. Chyna não podia entender por que o animal continuava tão agitado. Ela não estava mais quebrando louça nem virando mesas. Apenas examinava gavetas, procurando reduzir ao máximo o barulho das correntes, nada fazendo para alarmar o cão. O doberman parecia compreender que ela estava escapando, mas isso era impossível; não passava de um animal, não podia compreender as complexidades de sua situação. Apenas um animal. Contudo, corria preocupado de uma extremidade a outra da varanda, pulava para espiar pela janela, fixava-a com seus sinistros olhos pretos, parecia dizer "Fique longe dessa gaveta, sua desgraçada!"
Chyna pegou um saca-rolhas com cabo de madeira, examinou a ponta espiralada, descartou-o. Um abridor de garrafa. Não. Descascador de batata. Cortador de limão. Não. Encontrou uma pinça pesada que Vess devia usar para extrair azeitonas, picles e outras coisas similares de vidros apertados. As lâminas eram grandes demais para serem inseridas nos buracos da fechadura das algemas, e ela descartou a pinça também.
Até que localizou o item ideal: um alfinete de aço de doze centímetros, que devia ser usado como espeto para aves. Havia uma dúzia deles, presos por um elástico. Chyna tirou um. Era rígido, com cerca de um milímetro de diâmetro, com uma ponta na extremidade da haste e um gancho no topo. Alfinetes menores serviam para prender galinhas assadas, mas aquele era para perus.
O pensamento de um suculento peru assado fez com que o aroma surgisse no mesmo instante na mente de Chyna. Ela salivou, o estômago roncou, e ela desejou ter comido um pouco do sanduíche de presunto e queijo que Vess oferecera.
Prendeu o alfinete entre o polegar e o dedo do meio da mão direita, poupando o indicador inchado, e enfiou a ponta no buraco da fechadura da algema esquerda. Sondou experimentalmente, produzindo muitos estalidos e rangidos, tentando entender o mecanismo.
Lembrou um filme em que o maior assassino psicótico e gênio do crime de sua época moldava uma chave de algema com o tubo de metal da carga de uma caneta esferográfica e um clipe de papel comum. Ele abria uma algema e depois a outra em cerca de quinze segundos, talvez dez; em seguida dominava os dois guardas, matava-os e cortava o rosto de um para usar como disfarce, usando um canivete para a cirurgia, não a chave improvisada. Ao longo dos anos, assistira a muitos outros filmes em que prisioneiros abrem algemas e grilhões nas pernas, e nenhum deles era mais treinado para isso do que ela.
Dez minutos mais tarde, com as algemas ainda bem trancadas, Chyna resmungou cm voz alta: "Os filmes são cheios de merda".
Sentia-se tão frustrada que a mão tremeu e não conseguiu controlar o alfinete, que torceu-se em vão na fechadura.
Na varanda, o cão já não andava tão depressa quanto antes, mas continuava perturbado. Por duas vezes arranhou a porta dos fundos, uma das quais com considerável empenho, como se pensasse que podia escavar a madeira.
Chyna transferiu o alfinete para a mão esquerda e trabalhou por algum tempo na algema da direita. Estalidos, pequenos rangidos. Concentrava-se tanto em abrir a pequena tranca que suava copiosamente, como acontecera quando se empenhara em virar a pesada mesa.
Ao final, jogou o alfinete no chão. Ele ricocheteou com um pouco de barulho pelos ladrilhos, bateu num pedaço do prato quebrado, depois num caco do copo.
Talvez pudesse ter se soltado num instante se fosse o maior assassino psicótico e gênio do crime de seu tempo. Mas era apenas uma garçonete e estudante de psicologia.
Apesar da sanidade inconveniente e de ser uma cidadã respeitadora das leis, talvez fosse capaz de tirar as algemas dos pulsos e os grilhões dos tornozelos com algum instrumento mais apropriado que um espeto de comida, mas ainda assim precisaria de horas. E não podia dedicar horas apenas a se livrar da cadeira e das correntes, porque depois que estivesse livre havia muitas outras tarefas urgentes a fazer antes do retorno de Vess.
Ela fechou a gaveta. Levantou-se, segurando a corrente para não tropeçar e erguendo junto a cadeira.
Com um barulho digno do Fantasma dos Natais Passados, Chyna passou pela porta entre a cozinha e a sala de estar.
Por trás dela, na janela junto à mesa, soou um estranho rangido. Chyna olhou para trás e viu que o enorme doberman arranhava o vidro freneticamente com as patas dianteiras. O som era tão aflitivo quanto o de unhas contra um quadro-negro.
Ela pretendia caminhar pela sala de estar escura usando a luz que se derramava pela porta aberta, mas o cão assustou-a. Enquanto Chyna se ocupava com as algemas, o doberman se acalmara um pouco, mas agora parecia ainda mais perturbado que antes. Na esperança de aquietá-lo, antes que ele decidisse saltar pelo vidro, ela apagou as luzes fluorescentes da cozinha.
O rangido estridente continuou.
Patas, vidro.
Estridente.
Chyna atravessou a porta, deixando a cozinha. Fechou-a para bloquear o som do rangido. E bloquear o cão também, caso estivesse enfurecido o bastante para arremeter pelo vidro.
Ela foi tateando pela parede. Era evidente que os únicos interruptores estavam no outro lado da sala, junto à porta da frente.
A sala de estar parecia mais escura do que a cozinha. As cortinas estavam fechadas sobre uma das duas janelas amplas que davam para a varanda da frente. A outra janela era um retângulo cinza meio indefinido que não admitia mais claridade do que a janela da cozinha.
Chyna ficou imóvel, levando tempo para se orientar, procurando recordar-se dos móveis. Estivera naquela sala apenas uma vez antes, por um breve instante, com o cômodo povoado por sombras. Quando entrara pela varanda da frente naquela manhã, a porta da cozinha ficava um pouco à esquerda, na parede do fundo. O lindo sofá com pés em forma de bolas, estofado com tartã, ficava à direita, o que o deixava agora à sua esquerda, já que se encontrava virada para a frente da casa. Mesinhas de canto rústicas, de carvalho, ladeavam o sofá, e em cada mesinha havia um abajur.
Chyna cambaleou cautelosamente pela escuridão, tentando manter essa imagem da sala nítida em sua mente, com medo de tropeçar numa cadeira, num banco para os pés ou guarda-revistas. Envolta por correntes e sob o peso da cadeira, seria incapaz de conter sua queda de uma maneira natural; poderia sofrer um tombo tão sério por causa das correntes que quebraria um tornozelo ou até uma perna.
Edgler Vess voltaria para casa, ficaria consternado pela confusão, desapontado por ela ter se machucado antes que ele tivesse tempo de se divertir. Nesse caso, haveria a brincadeira da tartaruga, ou ele faria experiências com a perna fraturada, a fim de ensiná-la a desfrutar a dor.
A primeira coisa em que ela esbarrou foi o sofá, e não caiu. Com a mão no encosto, foi se deslocando até alcançar a mesinha do lado. Estendeu a mão, encontrou a copa do abajur, os fios por baixo do pano esticado.
Tateou em torno do bocal, depois na base do abajur. No momento em que seus dedos encontraram o interruptor, teve certeza de que uma mão forte sairia da escuridão para cobrir a sua, que Vess voltara para casa, estava sentado no sofá, a poucos centímetros dela. Divertindo-se, ele ouvira seus esforços, esperando como uma aranha gorda e paciente em sua teia de tartã, antecipando o prazer de destruir suas esperanças quando ela conseguisse finalmente chegar até ali. A luz se acenderia de repente, Vess sorriria, piscaria para ela e diria: "Intenso".
O interruptor era como uma pedra de gelo entre o polegar e o indicador. Congelando sua pele.
Com o coração batendo forte como as asas de uma frenética ave aprisionada, a tal ponto que impedia os pulmões de se expandirem, a pulsação na garganta inchando tanto que não conseguia engolir, Chyna rompeu a paralisia e acionou o interruptor. Uma luz suave espalhou-se pela sala. Edgler Vess não estava no sofá. Nem na poltrona. Nem em nenhum outro lugar da sala. Ela suspirou explosivamente, com um tremor que sacudiu as correntes, e encostou-se no sofá, até que pouco a pouco o coração disparado se acalmou.
Depois daquelas horas de depressão, durante as quais tivera uma morte emocional, sentiu-se agora energizada por aquele assédio do terror. Se algum dia sofresse um acesso perigoso de arritmia cardíaca, a mera lembrança de Edgler Vess seria mais eficaz para ativar o coração do que as pás elétricas de um desfibrilador. O medo provava que ela voltara à vida e reencontrara a esperança.
Chyna arrastou-se até a lareira feita de pedras cinzentas de rio e que se estendia do chão ao teto, por toda a parede norte da sala. A parte central não era elevada, o que facilitaria seu trabalho.
Pensara em descer até o porão, onde antes vira uma bancada de trabalho, a fim de examinar as serras que sem dúvida havia na coleção de ferramentas de Vess. Mas logo excluíra essa solução.
Descer os degraus íngremes para o porão envolta pelas correntes de aço, carregando a pesada cadeira de pinho nas costas, talvez não fosse uma façanha equivalente a saltar sobre o Snake River Gorge numa motocicleta, mas tinha riscos inegáveis. Estava relativamente segura de que conseguiria descer sem se inclinar demais para a frente e cair, quebrando o crânio como se fosse uma casca de ovo no concreto, ou fraturando uma perna em trinta e seis lugares — mas ainda estava longe de ter confiança absoluta. Sua força não era o que deveria ser, porque não comera muito nas últimas vinte e quatro horas e porque já passara por uma extenuante provação física. Além disso, todas as suas várias dores deixavam-na trêmula. Uma ida ao porão parecia bastante simples, mas naquelas circunstâncias seria equivalente a um equilibrista tomar quatro martinis duplos antes de andar na corda bamba.
Além do mais, mesmo que encontrasse um serrote de dentes afiados bastante pequeno para poder manejá-lo, não teria como alcançar um ângulo que lhe permitisse aplicar uma pressão eficaz. Para soltar a corrente inferior da cadeira, teria de cortar todas as três barras inferiores entre as pernas da cadeira, cada uma com uma polegada ou polegada e meia de diâmetro, em torno das quais os elos davam uma volta. Para consegui-lo, teria de se sentar, inclinar-se para a frente e serrar para trás, por baixo da cadeira. Mesmo que a parte superior da corrente estivesse bastante frouxa para lhe permitir estender os braços o suficiente para a tarefa, o que duvidava, só seria capaz de, no máximo, arranhar a madeira. Com sorte, terminaria de cortar a terceira barra ao final da primavera. E depois ainda teria de concentrar sua atenção nas cinco grades do encosto da cadeira, a fim de soltar a parte superior da corrente, e nem mesmo um contorcionista de parque de diversões, nascido com ossos de borracha, poderia alcançá-las com um serrote, acorrentado do jeito que Chyna estava.
Serrar as correntes de aço seria impossível. Poderia alcançá-las de um ângulo melhor do que aquele pelo qual se aproximara das barras de madeira entre as pernas da cadeira, mas Vess não devia ter lâminas especiais que cortassem aço, e Chyna com certeza não tinha a força necessária.
Estava resignada a medidas mais primitivas do que serras. E se preocupava com o potencial cie lesão e dor do processo de libertação.
No consolo da lareira, os veados de bronze saltavam perpetuamente, chifres contra chifres, por cima do mostrador branco e redondo do relógio.
Sete horas e oito minutos.
Tinha quase cinco horas até Vess voltar.
Ou talvez não.
Ele dissera que retornaria o mais rápido possível depois da meia-noite, mas Chyna não tinha motivos para supor que ele dissera a verdade. Poderia voltar às dez horas. Ou às oito horas. Ou dentro de dez minutos.
Ela se arrastou até a lareira, passando pelo suporte de ferro. Toda a parede que ladeava a lareira era feita da pedra lisa e cinzenta do rio, a superfície dura de que precisava. .
Chyna postou-se com o lado esquerdo virado para as pedras, torceu a parte superior do corpo para a esquerda tanto quanto possível, sem virar os pés, ao melhor estilo de um atleta olímpico se preparando para o lançamento do disco, depois fez um movimento brusco e vigoroso para a direita. Essa manobra lançou a cadeira — ou suas costas — na direção oposta ao corpo, batendo na parede. Ricocheteou nas pedras, com impacto suficiente para machucar seu ombro, costelas e quadril. Ela tentou de novo, aplicando ainda mais energia; mas depois da segunda vez, pôde julgar pelo som que conseguiria no máximo arranhar o verniz e arrancar algumas lascas de pinho. Centenas daqueles golpes precários poderiam demolir a cadeira com o tempo, convertendo-a em gravetos; mas antes disso, sofrendo cada contragolpe, Chyna estaria toda machucada e ensangüentada, os ossos se partiriam, as articulações se separariam como os elos de um colar de contas.
Ao balançar a cadeira como se fosse um cachorro abanando o rabo, não tinha como empregar a força necessária por trás. Era o que ela receara. Até onde podia determinar, só havia um outro método que poderia dar certo — mas não gostava dele.
Chyna olhou para o relógio no consolo da lareira. Apenas dois minutos haviam passado desde a última vez que verificara as horas.
Dois minutos não eram nada se ela tivesse até meia-noite, mas eram um desastroso desperdício de tempo se Vess estivesse voltando para casa naquele momento. Poderia estar deixando a estrada, passando pelo portão, entrando em seu caminho particular naquele instante, o filho da puta mentiroso, fazendo-a acreditar que só voltaria depois da meia-noite e depois chegando mais cedo para...
Ela assava um rechonchudo pão de pânico, e se comesse uma só fatia ficaria engasgada. Era um apetite ao qual não podia se entregar. O pânico consumia tempo e energia.
Devia permanecer calma.
Para livrar-se da cadeira, precisava usar o corpo como se fosse um bate-estacas, e a dor seria grande. Já estava toda dolorida, mas seria ainda pior — devastador — e isso a assustava.
Tinha de haver outro meio.
Ela ficou imóvel, ouvindo seu coração e o barulho cavo do relógio no consolo da lareira.
Se subisse para o andar superior primeiro, talvez encontrasse um telefone e pudesse chamar a polícia. Saberiam como lidar com os dobermans. Trariam chaves para livrá-la das correntes. E também libertariam Ariel. Com um único telefonema, tiraria todos os fardos de seus ombros.
Mas sabia no fundo de seu coração — a velha intuição amiga — que também não encontraria nenhum telefone lá em cima. Edgler Vess era infalivelmente meticuloso. Haveria um telefone funcionando sempre que ele estivesse em casa, mas não em sua ausência. Ele podia desligar o aparelho e levá-lo sempre que saísse.
Com movimentos restritos, desequilibrada pela cadeira, e por isso com uma falta de jeito perigosa, Chyna se arriscaria a uma queda capaz de aleijá-la, se subisse a escada. Enfrentaria um risco ainda maior quando, depois de não encontrar nenhum telefone, tivesse de descer. E nesse processo perderia um tempo precioso.
Ela deu as costas à parede de pedras de rio, arrastou-se por dois metros, parou, fechou os olhos, tomando coragem.
Talvez uma das grades no encosto da cadeira se partisse e fosse projetada para a frente. A ponta lascada perfuraria a almofada e depois espetaria Chyna, das costas para a frente, atravessando suas entranhas.
Seria mais provável que ela sofresse uma lesão na coluna. Com toda a força do impacto dirigida contra a metade inferior da cadeira, as pernas seriam impelidas contra as pernas de Chyna; a metade superior se afastaria de seu corpo — e no recuo bateria com toda a força em seus ombros ou pescoço. As grades estavam fixadas entre o assento e o encosto da cabeça, tão sólido que causaria grandes danos se se rachasse contra as vértebras cervicais com muita força. Poderia acabar no chão da sala de estar, sob a cadeira e as correntes, paralisada do pescoço para baixo.
Às vezes ela refletia demais sobre as possibilidades, remoia além do razoável sobre todas as incontáveis maneiras como qualquer situação ou relacionamento podia dar errado. O que era também uma conseqüência de ter passado a infância se escondendo no lado errado dos colchões, esperando que a briga ou a diversão acabassem.
Por algum tempo, quando tinha sete anos, Chyna e a mãe ficaram com um homem chamado Zack e uma mulher chamada Memphis numa velha casa de fazenda quase em ruínas, não muito longe de New Orleans. Uma noite, dois homens apareceram em visita, carregando uma caixa de isopor. Memphis matara-os menos de cinco minutos depois de sua chegada. Os visitantes estavam na cozinha, sentados à mesa. Um deles conversava com Chyna, enquanto o outro abria uma garrafa de cerveja, quando Memphis tirou um revólver da geladeira e atirou em ambos na cabeça, tão depressa que o segundo nem teve tempo de se esconder antes de levar um tiro na cara. Rápida e esquiva como um lagarto, Chyna fugira, certa de que Memphis enlouquecera e queria matar todo mundo. Escondera-se numa pilha de feno solto no estábulo. Durante o tempo que os adultos levaram para encontrá-la, visualizara várias vezes seu rosto se desmanchando ao impacto de uma bala, a tal ponto que cada imagem em sua mente — até mesmo vislumbres fugazes da Floresta Encantada, para onde não conseguia escapar — era toda em tonalidades de vermelho.
Mas ela sobrevivera àquela noite.
Vinha sobrevivendo há muito tempo. Uma eternidade.
E sobreviveria a isto também — ou morreria tentando.
Sem abrir os olhos, Chyna lançou-se para trás tão depressa quanto as correntes permitiam. Apesar do medo, calculou que devia ser no mínimo uma visão um tanto cômica, porque tinha de arrastar os pés freneticamente para desenvolver velocidade, e projetar-se para uma lesão na coluna em passinhos curtos de bebê. Mas depois ela se chocou contra as pedras, e não havia nada de engraçado nisso.
Estivera um pouco inclinada para a frente, a fim de levantar as pernas da cadeira por trás e garantir que batessem primeiro, em vez de outra parte, e recebessem o forte impacto inicial. Com todo o seu peso por trás do impulso houve um satisfatório barulho de madeira quebrando no choque — e as pernas de pinho se comprimiram dolorosamente contra as pernas de Chyna. Ela cambaleou para a frente e a parte superior da cadeira bateu em seu pescoço, como já esperava, fazendo-a perder o equilíbrio. Caiu de joelhos no chão de pedra da lareira e tombou para a frente, com a cadeira ainda nas costas, sentindo dor em tantos lugares que nem se deu ao trabalho de fazer um inventário.
Acorrentada, não conseguiria se levantar se não se segurasse em alguma coisa. Engatinhou até a poltrona mais próxima e levantou-se, grunhindo de esforço e dor.
Não gostava da dor da maneira como Vess alegava gostar, mas também não ia ficar se lamentando. Pelo menos ainda era capaz de engatinhar e se levantar. Ainda não havia nenhuma lesão na coluna. Melhor sentir dor do que não sentir nada.
As pernas da cadeira e as barras entre elas pareciam intactas, mas a julgar pelo som do impacto, conseguira enfraquecê-las.
Posicionando-se a dois metros e meio da parede desta vez, Chyna recuou tão depressa quanto podia, tentando bater com as pernas da cadeira nas pedras no mesmo ângulo de antes. Foi recompensada com um estalo nítido, o som de madeira rachada, embora tivesse a sensação de osso fraturado.
Uma represa de dor se rompeu dentro dela. Correntes frias arrastaram-na para o fundo, mas Chyna resistiu com a determinação desesperada de uma nadadora lutando contra a escuridão do afogamento.
Não fora derrubada dessa vez. Arrastou-se para a frente. Sem parar para recuperar o fôlego, ainda inclinada para garantir que as pernas da cadeira recebessem o maior impacto, ela recuou contra a parede de pedras.
Chyna despertou no chão, com o rosto virado para baixo, diante da lareira, sabendo que devia ter permanecido inconsciente por um ou dois minutos.
O tapete era frio e ondulante como água em movimento. Ela não flutuava nele, apenas tremeluzia pela superfície, como pontos avermelhados de luz do sol ou o reflexo escuro de uma nuvem.
A pior dor era atrás da cabeça. Devia ter batido em alguma coisa.
Sentia-se muito melhor quando não pensava na dor ou em seus problemas, quando simplesmente aceitava que não era mais do que uma sombra de nuvem na superfície espelhada de um rio, tão insubstancial quanto os desenhos que se formam na água em movimento, deslizando, líquida e fria, para longe, muito longe.
Ariel. No porão. Entre as bonecas vigilantes.
Sou a guardiã de minha irmã.
De alguma forma, ela conseguiu pôr-se de quatro.
Ouviu o barulho de patas na varanda da frente.
Quando se ergueu, apoiada numa poltrona, olhou pela janela que não estava coberta pela cortina. Dois dobermans erguiam-se com as patas no peitoril, fitando-a, os olhos de um tom amarelo radiante, com reflexos da luz âmbar projetada pelo abajur da mesinha de canto.
Uma das pernas traseiras da cadeira se encontrava caída na base da parede de pedra. A parte mais grossa ficara toda estilhaçada, no ponto em que fazia junção com a parte inferior do assento. Num ângulo de noventa graus havia a barra que a ligava à outra perna posterior.
Mais da metade da corrente inferior estava solta.
Na varanda, um cão andava de um lado para outro. O segundo ainda observava Chyna.
Ela puxou a corrente superior para a esquerda, através das grades nas costas, estendendo a mão direita por trás da cabeça, a fim de proporcionar a maior folga possível para a mão esquerda. Depois, estendeu a mão para baixo, pela esquerda, sob o braço da cadeira e o assento, procurando as pernas. A perna esquerda posterior não estava mais ali, obviamente a que se encontrava no chão, ao lado da parede. A barra de madeira ainda se projetava da perna esquerda dianteira, mas com a perna posterior arrancada não se ligava mais a coisa alguma, e a corrente se desprendera.
Quando ergueu a corrente do lado direito, para poder tatear sob a cadeira com essa mão, descobriu que a outra perna posterior estava bamba. Puxou, empurrou e torceu, tentando soltá-la, mas não tinha ponto de apoio suficiente e a perna continuava presa com firmeza suficiente para resistir a seus esforços.
Nunca houvera nenhuma barra entre as duas pernas da frente. Agora, a corrente inferior só não se achava solta de todo por causa da barra entre as pernas no lado direito.
Mais uma vez, Chyna recuou com toda a força, contra as pedras. Uma dor intensa explodiu por todo o seu corpo, e ela quase desfaleceu. Mas quando a perna direita não se desprendeu, ela gritou — "Droga!" —, não querendo se render à dor e à exaustão, a nada, absolutamente nada. Cambaleou para a frente e depois lançou-se de costas, mais uma vez. A madeira rachou com um estalo seco, lascas de pinho ricochetearam sobre as pedras. Com um tremendo retinido, a corrente inferior soltou-se da cadeira.
Inclinada para a frente, tonta, invadida por uma escuridão turbilhonante, tremendo muito, Chyna apoiou-se com as duas mãos no encosto da poltrona de couro. Sentia-se meio nauseada devido à dor e ao medo pelos danos que podia ter causado a seu corpo, especulando sobre vértebras fraturadas e hemorragia interna.
Um rangido agudo.
Um dos cães passava as unhas pelo vidro da janela.
Um rangido agoniante.
Chyna ainda não estava livre. Continuava acorrentada à metade superior da cadeira.
As quatro grades entre a parte superior e o assento eram mais finas do que as barras de madeira entre as pernas, e por isso deveriam se quebrar com mais facilidade. Ela não conseguira evitar que as pernas da cadeira machucassem seus joelhos e coxas, mas para essa parte da operação a almofada de espuma no encosto deveria proporcionar alguma proteção.
Havia duas colunas de pedra do chão ao teto ladeando a fornalha e servindo como apoio para o tampo de bordo de quinze centímetros de espessura que era o consolo da lareira. Eram curvas, e Chyna teve a impressão de que isso a ajudaria a concentrar o impacto em uma ou duas grades de cada vez, em vez de atingir todas as quatro.
Ela deslocou para o lado o pesado suporte de ferro da lareira. Empurrou também o suporte com atiçadores. Os movimentos faziam sua cabeça girar e o estômago embrulhar, uma centena de agonias a assediavam.
Já não ousava pensar no que estava fazendo. Apenas fazia, além da coragem agora, além das considerações e cálculos, era impelida por uma cega determinação animalesca para se libertar.
Dessa vez ela não se inclinou; até onde podia, manteve-se ereta e bateu de costas na pilastra. A almofada oferecia proteção, mas não era suficiente. Ela sofria com tantas contusões, músculos distendidos c ossos doloridos que o golpe seria devastador mesmo que a almofada fosse duas vezes mais espessa, como a pancada do martelo de borracha de um dentista num dente cariado precisando de um tratamento de canal. Naquele momento, todas as articulações em seu corpo pareciam um dente cariado. Ela não fez nenhuma pausa, porque tinha medo de que todas aquelas dores, pulsando ao mesmo tempo, em breve a derrubassem, fazendo com que desmoronasse de tal forma que não poderia mais recuperar o controle, tornar a se levantar. Ela estava ficando sem recursos, e com uma maré negra assomando nas extremidades da visão, também ficava sem tempo. Com um uivo de angústia, na expectativa da dor, ela se jogou para trás e gritou quando o golpe fez seus ossos chocalharem como dados num copo.
Agonia. Mas no instante seguinte ela tornou a se jogar contra a coluna, as correntes retinindo. Mais uma vez, ouviu o barulho de madeira se estilhaçando, gritou de novo, incapaz agora de parar de gritar, assustada pelos gritos, enquanto os cães vigilantes acrescentavam seus ganidos da janela. Apesar de tudo, Chyna tornou a se jogar com toda a força contra a pedra.
Viu-se outra vez caída no chão, o rosto para baixo, sem lembrar como chegara a isso, assolada por ânsias de vômito seco, porque não havia nada em seu estômago para ser expelido, engasgando com um gosto horrível no fundo da boca, as mãos cerradas contra o mero pensamento de derrota, sentindo-se pequena, fraca e lamentável, estremecendo, estremecendo sem parar.
Pouco a pouco, porém, os tremores foram diminuindo. O tapete começou a ondular, fresco e agradável sob seu corpo, e ela era uma sombra de nuvem, deslocando-se sobre corredeiras. A sombra com um halo de sol e as águas insondáveis deslocavam-se na mesma direção, sempre na mesma direção, para a frente e para sempre, velozes e suaves, a caminho da beirada do mundo e depois despencando no vazio, fluindo em silêncio, no escuro.
Esperando cães, Chyna despertou de sonhos vermelhos de armas esfriadas em geladeira e cabeças explodindo, mas não havia cães. Estava sozinha na sala de estar, e o silêncio reinava. Os dobermans não andavam pela varanda, e quando conseguiu finalmente levantar a cabeça, não viu nenhum deles na janela sem cortinas.
Continuavam lá fora, mais calmos agora, porque sabiam que seu momento chegaria. Vigiavam a porta e as janelas. Esperavam para ver seu rosto. Alertas ao estalo de cada trinco, ao rangido de cada dobradiça.
Ela sentia tanta dor que ficou surpresa por ter recuperado a consciência. A surpresa era ainda maior por constatar que tinha a mente lúcida.
Uma dor era separada e mais premente que todas as outras aflições. Ao contrário das agonias de ossos e músculos torturados, essa pressão podia ser aliviada com facilidade, e não teria sequer de passar pela terrível provação de se mover do lugar onde estava.
— Não, mas não mesmo! — murmurou ela, sentando-se devagar.
Ao se erguer, ela agitou dores profundas que haviam ficado adormecidas enquanto permanecera deitada no chão, mas despertaram assim que começou a se levantar: uma pressão nos ossos, músculos pegando fogo. Algumas eram intensas o bastante, pelo menos inicialmente, para deixá-la paralisada, ofegante, mas ao ficar de pé já tinha certeza de que nenhuma dor isolada era tão terrível a ponto de imobilizá-la; e embora o fardo das agonias combinadas fosse assustador, seria capaz de suportar.
E não teria mais que carregar a pesada cadeira. Estava no chão, ao seu redor, em fragmentos, e as correntes estavam livres.
Pelo relógio no consolo da lareira, faltavam três minutos para as oito horas, o que a deixou preocupada. Lembrava-se de ter olhado pela última vez às sete e dez. Não tinha certeza de quanto tempo levara para se desvencilhar da cadeira, mas desconfiava de que permanecera inconsciente por meia hora, talvez mais. O suor secara em seu corpo, os cabelos estavam apenas um pouco úmidos na nuca, por isso meia hora devia ser o tempo correto. Essa conclusão deixou-a fraca e indecisa de novo.
Se pudesse acreditar em Vess, Chyna ainda tinha quatro horas até ele voltar. Mas havia muita coisa a fazer, e quatro horas talvez não fosse tempo suficiente.
Chyna sentou-se na beirada do sofá. Livre da cadeira de pinho, pôde finalmente alcançar o cadeado na corrente curta entre os tornozelos. Era na verdade um engate de aço que ligava a corrente curta à longa, que havia sido passada em torno da cadeira e do pedestal da mesa. Era fácil de abrir, e ela se livrou da corrente comprida.
Os tornozelos permaneciam acorrentados, e ela teve de arrastar os pés ao se dirigir para a escada que levava ao segundo andar.
Acendeu a luz da escada estreita e subiu com dificuldade, levantando primeiro o pé esquerdo e depois o direito em cada degrau. Por causa da corrente, não podia pôr um pé em cada degrau, como faria em circunstâncias normais, por isso seu progresso era lento.
Segurava o corrimão com as duas mãos algemadas. Sem a pesada cadeira nas costas, seu equilíbrio já não era tão precário, mas ainda precisava tomar cuidado para não tropeçar na corrente.
Depois do patamar, no meio do segundo lance, todas as dores, o medo de cair e a pressão quente na bexiga combinaram-se para que ela se dobrasse com eólicas terríveis na barriga. Ela se encostou na parede, apoiada no corrimão, coberta de repente por um suor azedo, gemendo, soltando sons desconexos em seu sofrimento. Teve a certeza de que iria desmaiar, rolar pela escada e quebrar o pescoço.
Mas as cólicas passaram, e ela continuou a subir. Logo alcançou o segundo andar.
Acendeu a luz no corredor e deparou-se com três portas. As da direita e esquerda estavam fechadas, mas a do fundo estava aberta, revelando um banheiro.
Ali, embora com as mãos algemadas e tremendo, Chyna conseguiu desafivelar o cinto, desabotoar o jeans, baixar o zíper, amar a calça e a calcinha. Ao se sentar, foi assaltada por mais ondas de eólicas, muito mais violentas que as suportadas na escada. Recusara-se a urinar quando estava sentada à mesa da cozinha, como Vess queria que fizesse, recusara-se a ser reduzida a esse grau de desamparo. Agora não conseguia, por mais desesperadamente que quisesse — e precisasse, para acabar com as eólicas —, e especulou se segurara por tanto tempo que um espasmo na bexiga impedia o fluxo agora. Era possível, e abruptamente as eólicas ficaram piores, confirmando o diagnóstico. Era como se suas entranhas passassem por um espremedor — mas depois as eólicas passaram e veio o alívio.
Com o súbito fluxo, ela se surpreendeu ao ouvir sua própria voz:
— Chyna Shepherd, incólume e viva e podendo mijar.
E naquele instante ela se pôs a rir e chorar ao mesmo tempo, não de alívio, mas com uma estranha sensação de triunfo.
Livrar-se da mesa, estilhaçar e desvencilhar-se da cadeira e não urinar nas roupas parecia, no conjunto, um ato de resistência e coragem equivalente a pisar na lua com o primeiro astronauta a desembarcar ali, arrastar-se por tremendas nevascas até o Pólo Norte com o Almirante Perry, ou investir contra o poderio do exército alemão nas praias da Normandia. Ela riu de si mesma, riu até as lágrimas escorrerem pelas faces; não obstante, ainda sentia um certo triunfo. Sabia como seu triunfo era pequeno, até mesmo patético, mas sentia-o como se fosse enorme.
— Você vai apodrecer no Inferno — disse ela a Edgler Vess. Esperava poder algum dia ter a oportunidade de dizer isso na cara dele, antes de puxar o gatilho e despachá-lo deste mundo.
Sentira tanta dor nas costas, dos golpes que suportara, em particular em torno dos rins, que ao terminar examinou o vaso, à procura de sangue. Ficou aliviada ao constatar que a urina era clara.
Ao se contemplar no espelho que ficava acima da pia, no entanto, ficou chocada com seu reflexo. Os cabelos curtos estavam emaranhados e molhados do suor. O lado direito do rosto, ao longo do maxilar, parecia manchado de tinta púrpura, mas quando o tocou descobriu que era o começo de uma equimose que se estendia por todo o lado do pescoço. Onde não havia equimose nem estava sujo de terra, a pele estava pálida e granulosa, como se Chyna tivesse passado por uma longa e penosa doença. O olho direito estava todo injetado, sem nenhum branco visível: apenas a íris escura e a pupila ainda mais escura flutuavam numa poça elíptica de sangue. Tanto o olho machucado quanto o ileso contemplavam-na com uma expressão atormentada, tão angustiante que ela se desviou do próprio reflexo, confusa e com medo.
O rosto no espelho era de uma mulher que já perdera alguma batalha. Não era o rosto de uma vitoriosa.
Chyna tentou remover esse pensamento desanimador da mente no mesmo instante. O que vira no espelho fora o rosto de uma lutadora — não mais o rosto de uma mera sobrevivente, mas de uma lutadora. E toda pessoa que luta está sujeita a algum sofrimento, físico e emocional. Sem angústia e agonia, não há esperança de vitória.
Ela foi arrastando os pés do banheiro até a porta no lado direito do corredor, que abria para o quarto de Vess. Apenas uns poucos móveis simples. Uma cama muito bem arrumada, com uma colcha de chenille: Sem quadros. Sem bibelôs nem acessórios decorativos. Sem livros nem revistas, sem jornais abertos nos jogos de palavras cruzadas. Não passava de um lugar para dormir, não era um quarto onde ele ficasse ou vivesse.
Onde Vess realmente vivia era na dor dos outros, numa tempestade de morte, no olho calmo do furacão em que tudo era sistemático, mas onde o vento uivava por todos os lados.
Chyna verificou as gavetas da mesinha de cabeceira à procura de uma arma, mas nada encontrou. Também não encontrou nenhum telefone.
O closet tinha três metros de profundidade e era tão largo quanto o quarto — praticamente um outro cômodo. A primeira vista, nada continha que pudesse lhe ser útil. Tinha certeza de que descobriria alguma coisa útil se procurasse, talvez até uma arma de fogo bem escondida. Mas havia prateleiras atulhadas e gavetas cheias, caixas e mais caixas empilhadas; precisaria de horas para revistar tudo, e tarefas mais urgentes a aguardavam.
Esvaziou as gavetas da cômoda no chão, mas estas continham apenas meias, cuecas, camisas, blusões e alguns cintos enrolados. Nenhuma arma.
Do outro lado do corredor, em frente ao quarto de Vess, havia um escritório espartano. Paredes vazias. Painéis grossos em vez de cortinas de pano. Em duas mesas compridas havia dois computadores, cada um com sua impressora a laser. Dos numerosos equipamentos relacionados com o computador ela pôde identificar alguns, mas ficou desconcertada com outros.
A sala utilitária e monótona deixou-a intrigada. Sentia que era um lugar importante. O tempo era precioso, mas havia alguma coisa ali e valia a pena uma pausa para verificar.
Ela se sentou na cadeira e olhou ao redor, aturdida. Sabia que o mundo estava interligado hoje em dia, mesmo no interior, mas parecia estranho deparar com todo aquele equipamento de alta tecnologia numa casa tão remota e rústica.
Chyna desconfiou que Vess estava equipado para ter acesso à Internet, mas não havia telefone ou modem à vista. Percebeu duas tomadas de telefone no rodapé. As meticulosas medidas de segurança haviam servido a Vess de novo; ela estava encurralada.
O que ele fazia aqui?
Numa das mesas havia seis ou oito cadernos de espiral com capas coloridas. Chyna abriu o mais próximo. Era dividido em cinco seções, cada uma com o nome de uma agência do governo federal. A primeira era a Administração de Seguridade Social. As páginas estavam repletas do que parecia ser anotações de Vess para si mesmo sobre seu método de tentativas, pelo qual adquirira o acesso aos arquivos eletrônicos do órgão e aprendera a manipulá-los. A segunda seção tinha a indicação de departamento DE ESTADO NORTE-AMERICANO (AGÊNCIA DE PASSAPORTES), e a julgar pelas anotações, Vess estava empenhado numa experiência incompleta para determinar se era capaz, por vias indiretas e tortuosas, de invadir e controlar os arquivos eletrônicos da Agência de Passaportes sem ser descoberto.
Parte do que ele fazia, com toda certeza, era um preparativo para o dia em que cometesse algum erro em suas 'aventuras homicidas' e precisasse de uma nova identidade.
Chyna não acreditava, no entanto, que os únicos projetos de Vess fossem o de alterar seus registros públicos e obter uma falsa identidade. Estava aflita pela impressão de que aquela sala continha informações sobre Vess que poderiam ser de importância vital para sua sobrevivência, se ao menos soubesse onde procurar.
Ela largou o caderno e virou-se para o segundo computador na cadeira giratória. Por baixo de uma das extremidades da outra mesa havia um arquivo de duas gavetas. Chyna abriu a gaveta superior e encontrou pastas suspensas com um indicador de plástico azul; cada indicador tinha o nome de uma pessoa, com o sobrenome primeiro.
Cada pasta continha um dossiê de duas folhas sobre um agente policial diferente. Depois de alguns minutos de investigação, Chyna concluiu que eram assistentes do xerife, no condado em que ficava a casa de Vess. Os dossiês forneciam todas as estatísticas vitais sobre os policiais, além de informações sobre suas famílias e vidas pessoais. Havia também uma xerox da foto oficial de cada um.
Será que o maluco via algum proveito em colecionar informações sobre os policiais locais, prevenindo-se para o dia em que se confrontasse com eles? O esforço parecia excessivo até mesmo para alguém tão meticuloso quanto Edgler Vess; por outro lado, o excesso era a filosofia dele.
A gaveta inferior também continha pastas de arquivo. Os indicadores também apresentavam nomes, como na gaveta de cima, mas apenas os sobrenomes.
Na primeira pasta, com o nome almes, Chyna encontrou uma ampliação em página inteira da carteira de motorista da Califórnia de uma loura jovem e atraente chamada Mia Lorinda Almes. A julgar pela nitidez excepcional, não era uma ampliação de xerox do documento original, mas uma transmissão de dados digitalizada, recebida por um computador por meio de uma linha telefônica e reproduzida em uma impressora a laser de alta definição.
Os únicos itens restantes na pasta eram seis fotografias Polaroid de Mia Lorinda Almes. As duas primeiras eram closes de ângulos diferentes. Ela era muito bonita. E estava apavorada.
Aquela gaveta de arquivo equivalia a um álbum de recortes de Edgler Vess.
Mais quatro fotos de Mia Almes.
Não olhe.
As duas seguintes eram de corpo inteiro. A moça estava nua em ambas. Acorrentada.
Chyna fechou os olhos. Logo tornou a abri-los. Sentia-se compelida a olhar, talvez porque estivesse determinada a não mais se esconder de coisa alguma.
Na quinta e sexta fotos a moça estava morta, e na última seu lindo rosto desaparecera, como se tivesse sido explodido ou arrancado.
A pasta e as fotos caíram das mãos de Chyna para o chão, bateram no assoalho de madeira, deram uma volta e pararam. Ela cobriu o rosto com as mãos.
Não tentava bloquear a mente da imagem macabra na foto. Em vez disso, procurava reprimir uma lembrança de dezenove anos antes, numa casa de fazenda perto de New Orleans, dois visitantes com uma caixa de isopor, um revólver tirado da geladeira e a fria precisão com que uma mulher chamada Memphis os matara com dois tiros.
A memória, no entanto, sempre encontra um modo de se manifestar.
Os visitantes, que já haviam negociado com Zack e Memphis antes, estavam lá para uma compra de drogas. A caixa de isopor estava cheia de maços de notas de cem dólares. Talvez Zack não tivesse a mercadoria prometida, ou talvez ele e Memphis precisassem de mais dinheiro do que poderiam obter de uma venda; qualquer que fosse o motivo, haviam-decidido liquidar os dois homens.
Depois dos tiros, Chyna escondera-se no paiol de feno do estábulo, certa de que Memphis mataria todo mundo. Quando Memphis e Anne a encontraram, ela lutara contra as duas, desesperada. Mas tinha apenas sete anos de idade, não era adversária para elas. Com as corujas piando alarmadas e alçando vôo das vigas do teto, as mulheres arrastaram Chyna do feno infestado de camundongos e levaram-na para a casa.
A essa altura Zack já se retirara, levando os corpos para algum outro lugar. Memphis limpava o sangue da cozinha, enquanto Anne obrigava Chyna a tomar uma dose de uísque. Chyna não queria o uísque, cerrara os lábios, mas Anne dissera: "Você está na pior, não consegue parar de balbuciar coisas sem sentido, e uma dose não vai fazer mal. E o que você precisa, menina, confie na mamãe. É disso mesmo que precisa. Uma boa dose de uísque acaba com uma febre, sabe disso, e o que você tem agora é uma espécie de febre. Vamos, menina, tome logo, não é nenhum veneno. Tem vezes que você é uma porra de uma chata. Ou bebe isso depressa ou vou pegá-la e tapar seu nariz, enquanto Memphis derrama o uísque por sua garganta assim que abrir a boca para respirar. É assim que prefere?" Chyna tomara o uísque, e depois uma segunda dose com um pouco de leite, quando a mãe concluíra que ela precisava. A bebida deixara-a tonta e esquisita, mas não a acalmara.
Parecera mais calma para elas porque, como uma garota perceptiva, reprimira seu medo no fundo do coração, onde não podiam vê-lo. Mesmo aos sete anos de idade, ela já começara a compreender que demonstrar medo era perigoso, porque os outros interpretavam como fraqueza, e não havia lugar neste mundo para os fracos.
Mais tarde, naquela noite, Zack voltara para casa também com bafo de uísque. Estava efusivo, com um ânimo de comemoração. Fora direto para Chyna, abraçara-a, beijara-a no rosto, pegara suas mãos e tentara fazê-la dançar com ele.
— Aquele desgraçado do Bobby, na última vez que esteve aqui eu percebi tudo, pela maneira como olhava para Chyna, que tinha tesão por garotinhas, o tarado escroto, e esta noite quando ele entrou aqui a língua pendeu e quase bateu nos joelhos quando olhou para ela. Você poderia ter acertado meia dúzia de balas no sacana, Memphis, antes que ele percebesse!
Bobby era o homem sentado à mesa da cozinha, conversando com Chyna, os lindos olhos cinza fixados nela, falando diretamente para ela, de uma maneira que poucos adultos usavam para falar com crianças, perguntando se ela gostava mais de cachorros ou gatos, se queria crescer para se tornar uma artista de cinema famosa, uma enfermeira, uma médica ou qualquer outra coisa, quando Memphis acertara um tiro em sua cabeça.
— Da maneira como a nossa Chyna estava vestida — comentara Zack, muito excitado —, Bobby tinha esquecido completamente que havia mais alguém aqui.
A noite estava quente e úmida, e antes da chegada dos visitantes a mãe de Chyna a obrigara a trocar o short e camiseta para um simples biquíni amarelo: "Mas só a parte de baixo, querida, para não ter desidratação com este calor".
Embora tivesse apenas sete anos, Chyna já tinha idade suficiente para não gostar de andar com o peito descoberto, apesar de não conseguir explicar por que se sentia assim. Andava sem blusa quando era menor, ainda no verão anterior, quando tinha seis anos, e a noite estava realmente muito quente, abafada. Quando Zack dissera que a maneira como ela se vestia fizera com que Bobby esquecesse que havia mais alguém presente, Chyna não compreendera o significado daquilo. Anos mais tarde, quando entendeu, falou sobre isso com a mãe. Anne riu e disse: "Ora, meu bem, não fique tão indignada comigo. Temos de usar tudo o que temos, e uma das coisas que nós mulheres temos é o nosso corpo. Você era a distração perfeita. De qualquer forma, o pobre coitado do Bobby nunca tocou em você, não é? Ele apenas ficou olhando para você com o maior tesão, mais nada, enquanto Memphis pegava a arma. Não se esqueça, querida, que tivemos nossa parte naquela grana e vivemos muito bem por algum tempo."
Chyna sentira vontade de dizer: "Mas você me usou, me pôs nu frente dele, vi a cabeça dele explodir, e tinha- apenas sete anos"
Tantos anos depois, no escritório de Edgler Vess, ela ainda era capaz de ouvir o estampido do tiro e ver o rosto de Bobby explodir; a lembrança era nítida como sempre fora. Não sabia que arma Memphis usara, mas a munição devia ser de alto calibre, a ponta achatada, expandindo-se com o impacto, porque o dano infligido fora tremendo.
Ela tirou as mãos do rosto e olhou para a gaveta de arquivo aberta. Vess usara três formatos de pastas, com os indicadores em posições diferentes, por isso era fácil para Chyna ver todos os nomes ao longo da gaveta. Muito depois da pasta de Almes havia outra com o nome
TEMPLETON.
Chyna empurrou a gaveta com o pé, fechando-a. Encontrara coisas demais naquele escritório, mas nada de útil.
Antes de deixar o segundo andar, ela apagou todas as luzes. Sc Vess voltasse mais cedo, antes que ela tivesse tempo de escapar com Ariel, as luzes o avisariam de que havia algo errado. Seria melhor iludido com a escuridão, e no momento em que ele cruzasse a porta ela poderia ter uma última chance de matá-lo.
Esperava que isso não acontecesse. Apesar de suas fantasias de puxar o gatilho contra Vess, Chyna não queria ter de enfrentá-lo de novo, mesmo que encontrasse uma espingarda e a carregasse pessoalmente, mesmo que pudesse testá-la antes do retorno de Vess. Ela era uma sobrevivente e uma lutadora, mas Vess era mais do que isso, tão inacessível quanto as estrelas, algo que saíra das trevas mais profundas. Não era adversária para ele, e não queria outra chance de provar isso.
Um degrau de cada vez, apoiada no corrimão, o mais depressa que ousava, Chyna desceu para a sala de estar. Nenhum dos dobermans estava na janela sem cortinas.
O relógio no consolo da lareira marcava oito horas e vinte e dois minutos, e de repente a noite parecia um trenó numa encosta de gelo, aumentando a velocidade.
Ela apagou o abajur e caminhou vagarosamente pela escuridão até a cozinha. Ali acendeu as lâmpadas fluorescentes, apenas para não tropeçar nos destroços, para não cair e se cortar nos cacos de vidro.
Também não havia nenhum doberman na varanda dos fundos. Na janela, apenas a noite esperava.
Ao entrar na lavanderia sem janelas, apagou as luzes da cozinha e fechou a porta.
Desceu para o porão, foi até a bancada de trabalho e os armários que vira antes.
Nos armários altos de metal, com fendas de ventilação, encontrou latas de tinta e de verniz, pincéis e panos dobrados de maneira meticulosa, como se fossem lençóis de linho. Um armário inteiro era ocupado por tiras de couro preto com fivelas cromadas; ela não tinha a menor idéia de sua utilidade e nem as tocou. No último armário, Vess guardava diversas ferramentas elétricas, inclusive uma furadeira.
Numa das gavetas da mesa grande de ferramentas ela encontrou uma grande coleção de brocas em três caixas de plástico transparente. Também encontrou óculos de proteção de Plexiglas.
Havia uma tomada com oito pontos na parede por trás da bancada de trabalho, mas também havia outra, dupla, na parede ao lado da bancada. Ela precisava da tomada mais baixa, porque lhe permitia sentar no chão.
Embora não houvesse indicações sobre as brocas, Chyna calculou que todas se destinavam ao trabalho em madeira, portanto não perfurariam o aço com facilidade, se é que conseguiriam. De qualquer modo, ela não queria perfurar o aço, mas apenas danificar o suficiente os mecanismos de tranca nos grilhões das pernas para abri-los.
Escolheu uma broca mais ou menos do tamanho da abertura da fechadura, ajustou-a na furadeira e apertou-a. Segurou a furadeira com as duas mãos e apertou o gatilho, produzindo um zumbido estridente. A espiral da broca fina pôs-se a girar tão depressa que as estrias já não podiam ser vistas, dando a impressão de que era tão lisa e inofensiva quanto o resto da haste.
Chyna soltou o gatilho, largou no chão a furadeira silenciosa e ajeitou os óculos de proteção na cabeça. Sentiu-se desconcertada pelo pensamento de que Vess usara aqueles óculos. Estranhamente, esperava que tudo que visse através deles fosse distorcido, como se as moléculas das lentes tivessem sido transformadas pela força magnética com que Vess contemplava todas as coisas do mundo.
Mas o que viu através dos óculos não era diferente do que via sem eles, embora seu campo de visão ficasse limitado pela armação.
Ela tornou a segurar a furadeira com as duas mãos e inseriu a ponta da broca na abertura de chave da argola ao redor do tornozelo esquerdo. Quando puxou o gatilho, o aço girou contra o aço com um barulho infernal. A broca vibrou violentamente, saltou da abertura e deslizou pelo grilhão de cinco centímetros, cuspindo pequenas fagulhas. Se seus reflexos não fossem bons, a broca, ainda girando, teria perfurado seu pé, mas ela soltou o gatilho e levantou a broca bem a tempo de evitar o desastre.
O mecanismo já poderia estar avariado. Não podia ter certeza. Tudo continuava no lugar, o grilhão firme em seu tornozelo.
Chyna tornou a inserir a broca na abertura. Apertou a furadeira com mais força do que antes e fez um esforço maior para impedir que a broca saísse do buraco. O aço rangeu e rangeu, com uma fumaça azul de cheiro horrível se elevando do ponto de abrasão. O grilhão vibrando se comprimia de forma dolorosa contra o tornozelo, apesar da proteção da meia. A furadeira tremia nas mãos de Chyna, que subitamente ficaram úmidas de um suor frio devido à tensão de controlá-la. Um jato de fragmentos de metal saiu da fechadura, atingindo seu rosto. A broca se partiu e a ponta quebrada passou rente a sua cabeça, zunindo, e foi ricochetear na parede de blocos de concreto, com força suficiente para arrancar uma lasca, e retiniu pelo chão do porão, como uma bala que perdia a força.
Sua face esquerda ardia, e ela encontrou um fragmento de metal cravado na carne. Tinha quase um centímetro de comprimento e era fino como uma lasca de vidro. Conseguiu segurá-lo entre as unhas e retirá-lo. O pequeno ferimento sangrava; ela tinha sangue nas pontas dos dedos e sentia um filete fino escorrer pelo rosto, para o canto da boca.
Removeu a broca quebrada da furadeira e jogou-a para o lado. Escolheu outra broca, um pouco maior, ajeitou-a e apertou com firmeza.
Tornou a enfiar a broca na fechadura e puxou o gatilho. O grilhão no tornozelo esquerdo abriu-se com um súbito estalido. Não mais que um minuto depois, a fechadura do outro grilhão também cedeu.
Chyna largou a furadeira e levantou-se, trêmula, todos os músculos das pernas vibrando. Tremia não por causa das muitas dores, não por causa da fome e da fraqueza, mas sim porque se libertara dos grilhões, depois do desespero em que mergulhara apenas duas horas antes. Ela conseguira se libertar.
Ainda continuava algemada, no entanto, e não conseguiria segurar a furadeira com uma só mão para arrebentar o mecanismo da algema na outra mão. Mas tinha já uma idéia de como poderia livrar as mãos.
Embora houvesse outros desafios à sua espera além dos grilhões, embora a fuga não estivesse de modo algum garantida, o entusiasmo dominou Chyna, enquanto subia os degraus do porão. Pôs um pé em cada degrau, não um degrau de cada vez, como os grilhões a obrigavam antes; subiu quase correndo, apesar da fraqueza e dos tremores nos músculos, sem sequer usar o corrimão, chegou ao patamar, entrou na lavanderia, passou pela secadora e a máquina de lavar roupas. E nesse instante parou, abruptamente, as mãos na maçaneta da porta fechada, recordando como correra por aquele mesmo caminho e entrara na cozinha naquela manhã, tranqüilizada pelo barulho do cano vibrando, só para ser dominada por Vess.
Ficou imóvel junto à porta, até a respiração se acalmar, mas não foi capaz de aquietar o coração, que trovejara da excitação e do esforço para subir os degraus íngremes do porão, mas que agora batia forte com medo de Edgler Vess. Ela escutou na porta por algum tempo; nada ouviu além das batidas estrondosas em seu peito, girou a maçaneta o mais furtivamente possível.
As dobradiças não fizeram nenhum ruído enquanto a porta se abria para a cozinha, que continuava escura como a deixara. Ela encontrou o interruptor, hesitou, acendeu a luz — e não deparou com Vess à sua espera.
Enquanto vivesse, seria capaz algum dia de passar por uma porta sem sentir um calafrio?
De uma gaveta em que vira antes um jogo de facas, Chyna tirou um facão de carne com um cabo gasto de nogueira. Colocou-o no balcão, perto da pia.
Pegou um copo em outro armário, encheu-o com água da torneira, bebeu tudo em goles longos, antes de afastá-lo dos lábios. Nada do que já bebera antes fora tão saboroso quanto aquela água.
Encontrou na geladeira um bolo de café, com glacê, cravos e amêndoas, fechado. Rasgou o invólucro e tirou um pedaço do bolo. Ficou parada ao lado da pia, comendo com a maior voracidade, enchendo a boca até ficar com as bochechas estufadas, lambendo o glacê dos lábios, migalhas e pedaços de amêndoas caindo na pia.
Seu estado de espírito, enquanto comia, era incomum: ora gemia de satisfação, ora quase engasgava de riso, sufocava-se à beira das lágrimas, voltava a rir. Uma tempestade de emoções. Mas não havia problema. As tempestades sempre passavam, mais cedo ou mais tarde, e eram purificadoras.
Chegara até ali, mas ainda havia muito mais a fazer. Era essa a natureza da jornada.
Ela pegou o vidro de aspirina na prateleira de condimentos. Despejou dois comprimidos na palma da mão, mas não os mastigou. Tornou a encher o copo com água, engoliu as aspirinas, depois mais duas.
Cantou "I did it my way", como Sinatra, e depois acrescentou "tomei a porra da aspirina do meu jeito". Riu e comeu mais um pouco do bolo, e por um momento sentiu-se inebriada por sua realização.
Os cães lá fora, na noite — ela lembrou a si mesma. Dobermans na escuridão, cães nazistas desgraçados, com dentes enormes e olhos -pretos como os de um tubarão.
Havia quatro ganchos ao lado da prateleira de condimentos, e num deles estavam penduradas as chaves do trailer; não havia nada nos outros ganchos. Vess devia tomar o maior cuidado com as chaves da cela à prova de som e sem dúvida sempre as levava onde quer que fosse.
Chyna pegou o facão e o bolo comido pela metade e foi para o porão, apagando a luz da cozinha ao passar pela porta.
Eixo girante e mancal.
Chyna conhecia essas palavras exóticas, assim como muitas outras, porque as encontrara, quando criança, em livros escritos por CS. Lewis, Madeieine L'Engle, Robert Louis Stevenson e Kenneth Grahame. E cada vez que deparava com uma palavra que não conhecia, ela a procurava num velho dicionário, um tesouro muito prezado que sempre levava para qualquer lugar para onde sua irrequieta mãe a arrastasse, ano após ano, até estar tão cheio de fita adesiva que mal conseguia ler algumas definições através das tiras de celofane amarelada.
Eixo girante. Era o nome do pino numa dobradiça, que girava quando uma porta era aberta ou fechada.
Mancai. Era a luva dentro da qual o eixo girante se movia.
A grossa porta interna do vestíbulo à prova de som tinha três dobradiças. O eixo girante de cada uma tinha uma cabeça arredondada, acima do mancal.
Ela pegou um martelo e uma chave de fenda na mesa de ferramentas.
Com o banco e um pedaço de madeira como cunha, ela manteve aberta a porta externa acolchoada do vestíbulo. Pôs o facão no capacho de borracha no chão do vestíbulo, a seu fácil alcance.
Puxou a janelinha na porta interna, viu o amontoado de bonecas sob a luz rosada. Algumas tinham olhos radiantes como os de um lagarto, algumas tinham olhos escuros como os de certos dobermans.
Ariel estava sentada na enorme poltrona, as pernas levantadas sobre as almofadas, a cabeça inclinada para a frente, o rosto oculto pelos cabelos que caíam. Poderia estar dormindo, mas tinha as mãos contraídas no colo. Se os olhos estivessem abertos, fitariam os punhos.
— Sou só eu — disse Chyna.
A garota não fez nenhum movimento.
— Não tenha medo.
Ariel permaneceu tão imóvel que nem o véu de cabelos se mexeu.
— Sou só eu.
Desta vez, profundamente humilhada, Chyna não disse nada quanto a ser guardiã ou a salvação de ninguém.
Começou pela dobradiça inferior. A corrente entre as algemas mal lhe permitia usar as ferramentas. Segurou a chave de fenda com a mão esquerda, a ponta da lâmina formando um ângulo com a cabeça arredondada do eixo. Sem folga suficiente na corrente, não conseguia pegar o martelo pelo cabo. Por isso, segurou-o pela cabeça e bateu na parte inferior da chave de fenda o mais forte que podia, considerando as limitações do movimento. Por sorte, a dobradiça era bem lubrificada e a cada batida o pino subia mais e mais. Cinco minutos depois, apesar de encontrar um pouco de resistência no terceiro pino, todos haviam sido removidos.
Os mancais tinham chapas ligadas pelo eixo girante e presas na porta e no umbral. Essas chapas ficaram agora um pouco separadas, sem os eixos girantes para mantê-las juntas num mecanismo único.
A porta só permanecia no lugar por causa das trancas no lado direito, mas aquelas lingüetas de três centímetros não girariam como dobradiças. Chyna puxou a porta pelas chapas abertas das dobradiças. A princípio, apenas três dos doze centímetros de largura afastaram-se do umbral da esquerda, vinil esfregando em vinil. Ela enganchou os dedos nessa parte exposta, puxou com mais força, e a visão se turvou com uma nuvem vermelha, quando a dor no dedo inchado tornou a explodir. Mas foi recompensada com o guincho metálico estridente das lingüetas se mexendo nos encaixes e depois com o som de madeira rachando, enquanto todo o conjunto fazia pressão no umbral oposto. Ela redobrou os esforços, puxando ritmadamente, abrindo a porta milímetro a milímetro, até ofegar tanto que nem podia mais praguejar de frustração.
O peso da porta e a posição das duas lingüetas começaram a funcionar a favor de Chyna. As fechaduras eram muito próximas, uma logo acima da outra, e não eram espaçadas de maneira regular como as dobradiças. Assim, o pesado bloco começou a virar sobre elas, como se fossem um único pivô; e como a parte da porta acima das fechaduras era mais comprida que a de baixo, a parte superior foi se inclinando para fora, pela força da gravidade. Chyna tirou proveito dessas forças inevitáveis, puxou com mais força, grunhiu satisfeita quando a madeira rachou. Todos os doze centímetros de largura da cobertura de vinil soltaram-se do umbral com as dobradiças. Sem o umbral para conter a porta, Chyna puxou-a para a esquerda, e no lado direito as lingüetas saíram dos encaixes.
Subitamente a porta se inclinou para cima dela, sem mais nada para prendê-la. Era pesada demais para baixá-la devagar, por isso Chyna recuou rápido para o porão, deixando a porta cair no chão do vestíbulo.
Ela esperou por um momento, recuperando o fôlego, enquanto prestava atenção a qualquer ruído no resto da casa que pudesse indicar o retorno de Vess.
Finalmente ela tornou a avançar pelo vestíbulo. Passou sobre a porta caída como se fosse uma ponte e entrou na cela.
As bonecas observavam, imóveis e insidiosas.
Ariel continuava sentada na poltrona, a cabeça abaixada, os punhos no colo, na mesma posição em que se encontrava quando Chyna lhe falara pela janelinha na porta. Se ouvira as marteladas e o subseqüente estrondo, não se perturbara com isso.
— Ariel! — disse Chyna.
A garota não respondeu, nem levantou a cabeça.
Chyna sentou-se no banco diante da poltrona.
— É hora de ir embora, querida.
Como não obteve resposta, Chyna inclinou-se para a frente, baixou a cabeça c fitou o rosto encoberto da garota. Os olhos de Ariel estavam abertos, fixos nos punhos cerrados. Seus lábios se mexiam, como se sussurrasse confidencias para alguém, mas nenhum som saía.
Chyna estendeu as mãos algemadas sob o queixo de Ariel e levantou sua cabeça. A garota não tentou se desvencilhar, não se encolheu, mas ficou à mostra quando o véu de cabelos se afastou do rosto. Embora estivessem se fitando nos olhos, Ariel olhava através de Chyna, como se tudo nesse mundo fosse transparente. Havia em seus olhos uma desolação terrível, como se a paisagem daquele seu outro mundo fosse sem vida, assustadora.
— Temos de ir embora. Antes que ele volte.
Com os olhos faiscantes e atentas, talvez as bonecas tivessem ouvido. O que aparentemente não aconteceu com Ariel.
Com as duas mãos, Chyna segurou um dos punhos da garota. Os ossos eram finos, a pele fria, a mão se contraía com toda a força, como se estivesse suspensa à beira de um precipício.
Chyna tentou separar os dedos da garota. Dedos esculpidos de um punho de mármore não poderiam ser mais resistentes.
Ao final, Chyna ergueu o punho cerrado e beijou-o, com mais ternura do que jamais beijara alguém antes, com mais ternura do que jamais fora beijada, e murmurou: "Quero ajudá-la. E preciso ajudá-la, querida. Se não puder sair daqui com você, não há sentido em ir embora."
Ariel não respondeu.
— Por favor, deixe-me ajudá-la. — Ainda mais suave: "Por favor". Chyna beijou a mão mais uma vez, e sentiu os dedos da garota se mexerem. Abriram-se um pouco, frios e rígidos, mas não relaxaram de todo, continuaram encurvados, como os dedos de um esqueleto com as articulações calcificadas.
O desejo de Ariel de procurar ajuda, contido por seu medo paralisante de qualquer compromisso, era dolorosamente familiar para Chyna. Despertou-lhe uma profunda simpatia e compaixão por aquela garota, e ela sentiu um aperto na garganta tão forte que por um instante foi incapaz de engolir ou de respirar.
Depois, ela segurou a mão de Ariel com uma das mão algemadas, pôs a outra por cima, levantou-se do banco e disse:
— Vamos, pequena. Venha comigo. Temos de sair daqui.
O rosto de Ariel permaneceu impassível — ela continuou a olhar através de Chyna com o desligamento incomum de uma noviça dominada por uma aparição sagrada, a mente fervilhando com visões, mas levantou-se da poltrona. Depois de dar apenas dois passos em direção à porta, no entanto, ela parou e não queria seguir em frente, apesar das súplicas de Chyna. A garota talvez fosse capaz de projetar um mundo imaginário em que poderia encontrar uma frágil paz, uma Floresta Encantada pessoal, mas talvez não fosse mais capaz de conceber que esse mundo se estendia além das paredes da cela; por não visualizar isso, talvez, não conseguia atravessar a porta.
Chyna soltou a mão de Ariel. Escolheu uma boneca, de biscuit com cachos dourados e olhos verdes pintados, usando um avental branco sobre um vestido azul. Comprimiu-a contra o peito da garota e encorajou-a a abraçá-la. Não sabia o motivo da coleção, mas talvez Ariel gostasse de bonecas, e nesse caso poderia acompanhá-la mais facilmente se contasse com o conforto de uma.
A princípio, Ariel não teve nenhuma reação, continuou imóvel, com um punho ainda cerrado ao lado do corpo, a outra mão apenas entreaberta como uma garra de siri. Mas depois, sem desviar os olhos de coisas distantes, ela pegou a boneca com as duas mãos, segurando-a pelas pernas, Como a sombra de uma ave voando, uma expressão furiosa passou por seu rosto, mas sumiu antes que pudesse ser vista com clareza. Ela virou-se, balançou a boneca como se fosse um malho, e bateu com a cabeça pintada no tampo da mesa, espatifando o rosto de biscuit.
Aturdida, Chyna balbuciou "Não, meu bem" e segurou a garota pelo ombro.
Ariel desvencilhou-se e tornou a bater com a boneca nà mesa, com mais força do que antes. Chyna recuou, não de medo, mas em respeito à fúria da garota. E era mesmo fúria, uma raiva explosiva, não apenas um espasmo autista, apesar de seu rosto continuar impassível.
Ela bateu com a boneca na mesa várias vezes, até que a cabeça quebrada se soltou e foi bater numa parede, até que os braços racharam e caíram, até ficar estragada além de qualquer possibilidade de reparo. Só então Ariel a largou, tremendo, os braços pendendo junto ao corpo. Ainda olhava para Outro Lugar, não estava mais próxima de Chyna do que antes.
Das estantes, do alto dos armários, dos cantos escuros do quarto, as bonecas observavam com o máximo de atenção, como se estivessem excitadas pela explosão e de algum modo se alimentassem disso, o que aconteceria com o próprio Vess se ali estivesse para testemunhar a cena.
Chyna teve vontade de abraçar a garota, mas as algemas não lhe permitiam. Em vez disso, tocou no rosto de Ariel, beijou-a na testa.
— Ariel, incólume e viva.
Rígida, tremendo, Ariel não se desvencilhou de Chyna, nem se inclinou em sua direção. Pouco a pouco, o tremor se desvaneceu.
— Preciso de sua ajuda — suplicou Chyna. — Preciso de você. Desta vez, como uma sonâmbula, Ariel permitiu que Chyna a tirasse da cela.
Atravessaram o vestíbulo sobre a porta caída. No porão, Chyna pegou a furadeira no chão, ligou-a na tomada na parede e colocou-a sobre a bancada.
Não tinha um relógio como referência, mas estava convencida de que já passava de nove horas. Havia cães à espera na noite e Edgler Vess trabalhava em algum lugar, sonhando com o momento em que voltaria para casa e encontraria as duas cativas.
Tentando em vão focalizar os olhos da garota nela, Chyna explicou o que precisavam fazer. Talvez pudesse guiar o trailer algemada, embora não sem um pouco de dificuldade, pois teria de largar o volante para passar a marcha. Lidar com os cães algemada seria muito mais difícil, talvez impossível. Se quisessem aproveitar da melhor maneira possível o tempo restante antes do retorno de Vess, se quisessem ter a melhor chance de escapar, Ariel teria de usar a furadeira para abrir as algemas.
A garota não deu a menor indicação de que ouvira uma só palavra do que Chyna lhe dissera. Na verdade, antes de Chyna terminar, os lábios de Ariel já se mexiam de novo, numa conversa silenciosa com algum fantasma; ela não 'falava' incessantemente; de vez em quando fazia uma pausa, como se recebesse uma resposta de um amigo imaginário.
Mesmo assim, Chyna mostrou-lhe como segurar a furadeira e apertar o gatilho. A garota não piscou ao repentino zumbido estridente da máquina.
— Sua vez, agora — disse Chyna.
Alienada, Ariel continuou com os braços pendentes junto ao corpo, as mãos entreabertas, os dedos curvos, como estavam desde que largara a boneca.
— Não temos muito tempo, meu bem.
Em seu Outro Lugar sem relógio, o tempo nada significava para Ariel.
Chyna largou a furadeira na bancada. Puxou a moça para a frente da ferramenta, pôs as mãos dela em cima.
Ariel não retirou as mãos, mas também não levantou a furadeira.
Chyna sabia que a garota a ouvira, compreendera a situação e, em algum nível, ansiava ajudar.
— Nossas esperanças estão em suas mãos, meu bem. Você pode fazer isso.
Ela foi pegar o banco na porta externa do vestíbulo e se sentou. Pôs as mãos em cima da bancada, os pulsos virados para expor a pequena abertura da chave na algema esquerda.
Sempre olhando para a parede de blocos de concreto, através da parede, falando sem som para um amigo psíquico que transpunha todas as paredes, Ariel parecia ignorar a furadeira. Ou para ela talvez não fosse uma furadeira, mas outro objeto, completamente diferente, que lhe incutia esperança ou medo, a coisa sobre a qual falava com o amigo fantasma.
Mesmo que a garota segurasse a furadeira direito e concentrasse os olhos na algema, a possibilidade de executar a tarefa parecia mínima. A possibilidade de não furar a palma ou o pulso de Chyna parecia ainda menor.
Por outro lado, embora a probabilidade de salvação de qualquer problema ou inimigo nesta vida fosse sempre reduzida, Chyna sobrevivera a incontáveis noites de fúria sanguinária e desejo incontrolado. A sobrevivência era muito diferente da salvação, é claro, mas era um pré-requisito.
Seja como for, ela estava disposta agora a fazer o que nunca fora capaz de fazer antes, nem mesmo com Laura Templeton: confiar. Confiar sem reservas. E se aquela garota tentasse e fracassasse, deixasse a furadeira escapulir e atingisse a carne, em vez do aço, Chyna não a culparia por isso. Havia ocasiões em que apenas tentar já era um triunfo.
E ela sabia que Ariel queria tentar.
Tinha certeza.
Por um minuto mais ou menos, Chyna encorajou a moça a começar; como isso não adiantasse, tentou esperar em silêncio. Mas o silêncio levava-a a pensamentos de veados de bronze e o relógio sobre o qual saltavam, no consolo da lareira na sala de estar. Em sua imaginação, o mostrador do relógio adquiria o rosto do rapaz pendurado no closet do trailer, as pálpebras e os lábios costurados, num silêncio ainda mais profundo do que aquele que reinava no porão.
Sem nenhum cálculo, surpresa ao perceber o que estava fazendo, mas confiando no instinto, Chyna começou a contar a Ariel o que acontecera há muito tempo, na noite de seu oitavo aniversário: o chalé em Key West, a tempestade, Jim Woltz, o frenético besouro de palmito embaixo da cama de ferro...
Bêbado de Dos Equis e alto com duas pequenas pílulas brancas que engolira com a primeira garrafa de cerveja, Woltz zombara de Chyna porque ela não conseguira apagar todas as velas em seu bolo de aniversário num único sopro, deixando uma acesa.
— Isso dá azar, menina. Vai atrair um mundo de desgraça para a gente. Se não apaga todas as velas, convida todos os duendes para a sua vida, os maus espíritos, atrás da sua grana. — Naquele instante o céu noturno se convulsionara com um clarão branco, as sombras das palmeiras se projetando pelas janelas da cozinha. O chalé tremia com as ondas de choque das trovoadas, violentas como explosões de bombas, e a tempestade desabara.
— Está vendo? — dissera Woltz. — Se não repararmos essa situação agora mesmo, então alguns bandidos levarão a melhor sobre nós, irão nos retalhar em nacos sangrentos, pôr em baldes de iscas, levá-los para alto-mar e usar-nos para atrair tubarões. Quer virar comida de tubarão, menina?
O discurso assustara Chyna, mas a mãe achara engraçado. A mãe vinha bebendo vodca com limonada desde o final da tarde.
Woltz reacendera as velas e exigira que Chyna tentasse de novo. Como ela não conseguisse apagar mais do que sete com um único sopro, Woltz pegara sua mão, lambera o polegar e o indicador, a língua se demorando de uma maneira que a repugnara, e depois a obrigara a apagar a chama restante apertando o pavio entre os dedos. Embora houvesse um breve calor na pele, ela não se queimara; os dedos, porém, ficaram com manchas pretas do pavio fumegante, o que a deixara aterrorizada.
Quando Chyna começou a chorar, Woltz a segurou pelo braço, mantendo-a na cadeira, enquanto Anne reacendia as oito velas, insistindo para que ela tentasse mais uma vez. Na terceira tentativa, Chyna conseguiu extinguir apenas seis velas com o primeiro sopro. Quando Woltz quis obrigá-la a apagar as duas chamas com os dedos, ela se desvencilhou e saiu correndo da cozinha, pretendendo fugir para a praia, mas os relâmpagos riscavam o céu como espelhos brilhantes em torno do chalé, a noite faiscando com fragmentos prateados, enquanto trovoadas violentas como um canhoneio de navios de guerra ressoavam pelo Golfo do México. Por isso, ela escapara para o pequeno quarto onde dormia, rastejara para baixo da cama, para as sombras secretas onde o besouro de palmito esperava.
— Woltz, o filho da puta nojento, vasculhou a casa à minha procura — disse Chyna a Ariel. — Gritava meu nome, derrubava os móveis, batia portas, berrava que ia me retalhar como isca de tubarão e me jogar no mar. Mais tarde, compreendi que era uma encenação. Ele apenas tentava me apavorar. Sempre gostou de me assustar, de me fazer chorar, porque eu não chorava com facilidade, nunca com facilidade...
Chyna parou, incapaz de continuar.
Ariel não olhava mais para a parede, como antes, mas sim para a furadeira em suas mãos. Se via de fato a furadeira era outra questão; os olhos continuavam distantes.
A garota poderia não estar escutando, mas Chyna sentiu-se compelida a contar o resto do que acontecera em Key West naquela noite.
Era a primeira vez que revelava a alguém, além de Laura, qualquer das coisas que haviam lhe acontecido quando era criança. A vergonha sempre a silenciara, o que era inexplicável, porque nenhuma das degradações a que fora submetida era resultado de suas próprias ações. Fora uma vítima, pequena e indefesa; contudo, sentia o peso da vergonha que todos os seus algozes, inclusive a mãe, eram incapazes de sentir.
Ocultara alguns dos piores detalhes de seu passado até mesmo de Laura Templeton, sua única grande amiga. Muitas vezes, à beira de uma revelação para Laura, ela recuava de repente e não falava sobre o que sofrerá, sobre as pessoas que a haviam atormentado, mas apenas sobre os lugares — Key West, o Condado de Mendocino, New Orleans, San Francisco, Wyoming — onde vivera. Tornava-se lírica quando o assunto era a beleza natural das montanhas, planícies, braços de rios ou as ondas enluaradas no Golfo do México, mas podia sentir a raiva contraindo seu rosto e a vergonha tingindo-o quando contava as verdades mais duras sobre os amigos de Anne que haviam povoado sua infância.
Tinha agora um aperto na garganta. Sentia o peso de seu coração como uma pedra no peito, pesado de todo o passado. :.
Nauseada de vergonha e raiva, mesmo assim ela achava que deveria terminar de contar a Ariel o que acontecera naquela noite de velas não apagadas na Flórida. A revelação podia ser uma porta para sair das trevas.
— Ah, como eu o odiei, aquele desgraçado seboso, fedendo a cerveja e suor, quebrando tudo em meu quarto, aos berros, dizendo que ia me retalhar como isca de tubarão, enquanto Anne ria na sala e depois na porta do quarto, aquela sua risada de bêbada, estridente, pensando que era muito engraçado, e durante todo o tempo era meu aniversário, meu dia 'especial'.
As lágrimas poderiam escorrer agora, se ela não tivesse passado a vida inteira tentando reprimi-las.
— E o besouro de palmito rastejava por todo o meu corpo, frenético, subindo pelas costas, embrenhando-se nos cabelos...
No calor pegajoso e sufocante de Key West, as trovoadas sacudiam a janela, cantavam nas molas da cama, reflexos azuis e frios dos relâmpagos bruxuleavam como um fogo onírico sobre o assoalho de madeira pintado. Chyna quase gritara quando o inseto tropical, grande como sua mão de menina, se enfiara por seus cabelos compridos, mas o medo de Woltz a mantivera em silêncio. Também agüentara firme quando o besouro saíra dos cabelos, atravessara o ombro, percorrera o braço fino até o chão, na esperança de que deixasse o quarto, sem ousar afugentá-lo com um peteleco, por medo de que qualquer movimento fosse ouvido por Woltz — apesar das trovoadas, apesar das ameaças e insultos gritados, apesar das risadas da mãe. Mas o besouro disparara pelo lado do corpo até os pés descalços, pusera-se a explorar de novo essa parte dela, tornozelos, pernas, coxas. Entrara por baixo da perna do short até a fenda entre as nádegas, as antenas explorando de um lado para outro. Ela ficara numa paralisia de terror, querendo apenas que o tormento acabasse, que os relâmpagos a atingissem, que Deus a levasse para algum lugar melhor do que aquele mundo odioso. Rindo, a mãe entrou no quarto.
— Jimmy, seu maluco, ela não está aqui. Foi se esconder em algum lugar da praia, como sempre.
— Se ela voltar, juro que corto essa menina em pedacinhos para isca de tubarão — disse Woltz. Deu uma gargalhada. — Viu os olhos dela? Como estava apavorada!
-— É — concordou Anne. — Acho que é uma covarde. Vai passar horas escondida. Não sei quando ela vai crescer.
— Uma coisa posso garantir, ela não saiu à mãe. Você já nasceu crescida, não é mesmo, boneca?
— Se tentar uma coisa assim comigo, seu sacana, pode ter certeza de que não vou fugir. Vou chutar seus colhões com tanta força que terá de mudar seu nome para Nancy.
Woltz caiu na gargalhada, e de baixo da cama Chyna viu os pés descalços da mãe se aproximarem dos pés de Woltz, e depois a mãe riu também.
Gordo, obsceno e agitado, o besouro subiu pela cintura do short, atravessando as costas, na direção do pescoço. Ela não foi capaz de suportar a perspectiva do bicho em seus cabelos outra vez. Desprezando as conseqüências, estendeu a mão para trás e o pegou. O besouro se contorceu em sua mão, mas ela o apertou com força.
Com a cabeça virada para o lado, espiando de baixo da cama, Chyna ainda olhava para os pés descalços da mãe. Enquanto os relâmpagos continuavam a iluminar o pequeno quarto, um pano caiu no chão, de linho amarelo, flutuando junto aos tornozelos de Anne. Sua blusa. Ela riu de novo, bêbada, quando o short escorregou pelas pernas bronzeadas.
As pernas do besouro furioso se agitavam na mão cerrada de Chyna. As antenas frenéticas, procurando sem parar. Woltz tirou suas sandálias, uma delas caiu junto da cama, perto do rosto de Chyna, que ouviu o som de um zíper. Duro, frio e oleoso, o besouro revirava a cabeça entre os dedos de Chyna. O jeans rasgado de Woltz caiu no chão, com um pequeno retinido da fivela do cinto.
Ele e Anne jogaram-se na cama estreita, as molas rangeram, o peso fez o estrado de ripas vergar contra os ombros e costas de Chyna, imobilizando-a no chão. Suspiros, murmúrios, estímulos prementes, gemidos, ofegos, grunhidos animalescos — Chyna ouvira tudo aquilo em outras noites em Key West e em vários lugares, mas sempre através de paredes, em outros quartos. Não sabia direito o que significavam aqueles ruídos, nem queria saber, porque sentia que o conhecimento acarretaria novos perigos, e não estava preparada para enfrentá-los. O que sua mãe e Woltz faziam ali em cima era ao mesmo tempo assustador e profundamente triste, com algum terrível significado, não menos estranho ou menos poderoso do que as trovoadas que partiam o céu sobre o Golfo e os raios lançados do Paraíso para a Terra.
Chyna fechou os olhos evitando os relâmpagos c a visão das roupas descartadas. Esforçou-se para ignorar o cheiro de poeira, mofo, cerveja e suor, o sabonete da mãe. Imaginou que seus ouvidos estavam cheios de cera que abafava as trovoadas, o tamborilar da chuva no telhado e os sons de Anne com Woltz. Por mais tensa que estivesse, deveria ser capaz de ingressar num estado seguro de insensata paciência ou até mesmo cruzar o portal mágico para a Floresta Encantada.
Não teve muito êxito, porque Woltz sacudia a cama estreita com tanto vigor que Chyna, conscientemente, tinha de calcular sua respiração no ritmo que ele impunha. Quando as tábuas do estrado vergavam devido ao impacto do peso dele, pressionavam Chyna contra o chão de tal forma que seu peito doía e os pulmões não conseguiam se expandir. Só podia inalar quando ele se erguia, e quando Woltz baixava, era obrigada a exalar. A situação prolongou-se pelo que pareceu muito tempo, e quando finalmente acabou, Chyna estava trêmula e encharcada de suor, atordoada pelo terror, desesperada para esquecer o que ouvira, surpresa por não ter perdido o fôlego para sempre, por seu coração não ter explodido. Tinha na mão o que restava do enorme besouro de palmito, esmagado num gesto involuntário; o icor escorria entre seus dedos, um limo repulsivo que podia ter sido um pouco quente ao se derramar do besouro, mas agora estava frio. Seu estômago embrulhou-se em náusea devido à estranha textura da substância.
Depois de algum tempo, ao final de uma enxurrada de murmúrios e risos, Anne saiu da cama, recolheu suas roupas e foi até o banheiro. Enquanto a porta do banheiro se fechava, Woltz acendeu o abajur na mesinha de cabeceira, deslocou o peso na cama e inclinou-se para o lado. Seu rosto apareceu virado para baixo na frente de Chyna. A luz brilhava por trás da cabeça e o rosto estava nas sombras, mas dava para ver que os olhos faiscavam. Ele sorriu e disse:
— Como foi sua festa de aniversário, menina?
Chyna estava incapacitada de falar ou se mexer, e quase acreditou que a umidade em sua mão era um naco sangrento de isca de tubarão. Sabia que Woltz a retalharia por tê-lo ouvido com sua mãe, poria os pedaços em baldes de isca e levaria para o mar, para alimentar os tubarões. Em vez disso, porém, ele saiu da cama e — da perspectiva de Chyna, apenas um par de pés outra vez — vestiu o jeans, calçou as sandálias e deixou o quarto.
No porão de Edgler Vess, a milhares de quilômetros e dezoito anos daquela noite em Key West, Chyna percebeu que Ariel finalmente parecia olhar de fato para a furadeira, e não através dela.
— Não sei por quanto tempo fiquei debaixo da cama — continuou ela. — Talvez uns poucos minutos, talvez uma hora. Ouvi Woltz e minha mãe na cozinha, tomando outra cerveja, preparando outra vodca com limão para ela, conversando e rindo. E havia alguma coisa na risada dela — uma zombaria... não sei direito —, mas alguma coisa me levou a pensar que ela sabia que eu me escondia ali, sabia de tudo, mas mesmo assim entrou no jogo de Woltz quando ele desabotoou sua blusa.
Ela olhou para as mãos algemadas na bancada.
Podia sentir o icor do besouro como se escorresse agora entre seus dedos. Quando esmagou o inseto, também esmagou o que restava de sua frágil inocência e toda a esperança de ser uma filha para sua mãe; embora ainda precisasse, depois daquela noite, de anos para compreender isso.
— Não lembro de como saí do chalé, talvez pela porta da frente, talvez por uma janela, mas a próxima coisa de que me recordo é estar na praia, em plena tempestade. Fui até a beira d'água, lavei as mãos nas ondas. Não eram muito grandes. Ali raramente são, exceto quando há um furacão, e aquilo era só uma tempestade tropical, quase sem vento, a chuva forte descendo reta. Apesar disso, as ondas eram maiores do que o habitual. Pensei em nadar pelas águas escuras até encontrar uma contracorrente submarina. Tentei convencer-me de que estava tudo bem, apenas nadaria no escuro até me cansar, iria ao encontro de Deus.
As mãos de Ariel pareciam apertar a furadeira.
— Mas pela primeira vez na vida tive medo do mar... de como as ondas quebrando pareciam um gigantesco coração, de como as águas próximas eram de um negrume lustroso igual à casca do besouro, pareciam curvar-se a pouca distância, ao encontro de um céu negro, sem nenhum brilho. Foi o fato de o escuro parecer contínuo e interminável que me assustou, a continuidade, embora não conhecesse a palavra na ocasião. Deitei-me na areia, de costas, a chuva caindo em mim com tanta força que não conseguia manter os olhos abertos. Mesmo por trás das pálpebras, era capaz de ver os relâmpagos como fantasmas brilhantes, e já que estava apavorada demais para nadar até Deus, fiquei esperando que Deus viesse me buscar, num intenso clarão. Mas Ele não veio, e acabei adormecendo. Pouco depois do amanhecer, quando acordei, a tempestade havia passado. O céu era vermelho a leste, safira a oeste, o mar liso e verde. Entrei e encontrei Anne e Woltz dormindo no quarto dele. Meu bolo de aniversário continuava na mesa da cozinha, como na noite anterior. O glacê rosa e branco ficara mole, cheio de um óleo amarelado por causa do calor, as oito velas tortas. Ninguém cortara uma fatia sequer, e também não o toquei... Dois dias depois, minha mãe me levou para Tupelo, no Mississippi, ou Santa Fé, ou talvez Boston. Não me lembro exatamente onde, mas me senti aliviada ao partir — e com medo do que poderia me acontecer em seguida. Só ficava feliz durante a viagem, escapando de uma coisa, mas sem ter chegado ainda à seguinte, a paz da estrada ou do trem. Poderia viajar para sempre, sem destino.
Acima delas, a casa de Edgler Vess permanecia em silêncio.
Uma sombra deslocou-se pelo chão do porão.
Chyna levantou os olhos, viu uma aranha ocupada em tecer uma teia entre uma viga e o ponto de luz.
Talvez tivesse de lidar com os dobermans ainda algemada. O tempo se esgotava depressa.
Ariel levantou a furadeira.
Chyna abriu a boca para dizer algumas palavras de encorajamento, mas teve receio de falar a coisa errada e fazer a garota aprofundar-se ainda mais em seu transe. Em vez disso, pegou os óculos de proteção, sem fazer nenhum comentário, e ajeitou-os na garota. Ariel submeteu-se sem nenhuma objeção.
Chyna retornou ao banco e esperou.
Um franzido surgiu no rosto plácido de Ariel, mas não se desvaneceu no instante seguinte.
A garota apertou o gatilho da furadeira, experimentando. O motor zumbiu, a broca girou. Ela soltou o gatilho e observou a ponta, até parar de girar.
Chyna percebeu que prendia a respiração. Deixou-a escapar, aspirou fundo, e o ar parecia mais doce do que nunca. Ajustou a posição das mãos na bancada de trabalho, a fim de exibir a algema esquerda a Ariel.
Por trás dos óculos de proteção, os olhos de Ariel deslocaram-se lentamente da ponta da broca para a abertura da chave. Não havia a menor dúvida de que ela olhava para as coisas agora, mas ainda parecia desligada.
Confie.
Chyna fechou os olhos.
Enquanto esperava, o silêncio tornou-se tão profundo que ela começou a ouvir ruídos distantes imaginários, análogos às luzes fantasmas que faiscavam por trás das pálpebras fechadas: o solene tique-taque do relógio no consolo da lareira, os movimentos irrequietos dos vigilantes dobermans na noite lá fora.
Alguma coisa se comprimiu contra a algema esquerda.
Chyna abriu os olhos.
A broca estava na abertura da algema.
Ela não olhou para a garota, apenas fechou os olhos de novo, mais tensa desta vez do que antes, para se proteger de fragmentos de metal. Virou a cabeça para o lado.
Ariel empurrou a furadeira para evitar que saísse da abertura, como Chyna instruíra. A algema de aço comprimiu-se com força contra o pulso de Chyna.
Silêncio. Imobilidade. Tomando coragem.
E de repente o motor da furadeira zuniu. Rangido de aço contra aço, o som acompanhado pelo odor acre de metal quente. As vibrações nos ossos do pulso de Chyna subiram pelo braço, acentuando todas as dores em seus músculos. Um estalo forte e a algema se abriu.
Ela poderia agir relativamente bem com o par de algemas pendendo da mão direita. Talvez não houvesse sentido em se arriscar a uma lesão pela pequena vantagem adicional de se livrar por completo das algemas. Mas aquilo não tinha a ver com lógica. Não se tratava de uma comparação racional entre riscos e vantagens. Tratava-se de fé.
A broca retiniu contra o metal ao ser inserida na abertura da algema direita. A furadeira tornou a ser acionada, o metal rangeu. Houve uma chuva de fragmentos na direção do rosto de Chyna, e a tranca se rompeu.
Ariel soltou o gatilho e afastou a furadeira.
Com uma risada de alívio e satisfação, Chyna livrou-se das algemas e levantou as mãos, contemplando-as com espanto. Tinha os pulsos esfolados — mais do que isso, em carne viva, sangrando em alguns pontos. Mas essa dor era menos severa do que muitas outras que a afligiam, e nenhuma dor podia reduzir a alegria por estar finalmente livre.
Como se não tivesse certeza do que fazer em seguida, Ariel ficou imóvel, segurando a furadeira com as duas mãos. Chyna pegou a ferramenta e largou-a na bancada.
— Obrigada, meu bem. Foi sensacional. Fez um trabalho perfeito.
Os braços da garota pendiam junto ao corpo, as mãos pálidas e delicadas não mais se encurvavam como garras; estavam relaxadas, como as de uma pessoa dormindo.
Chyna tirou os óculos de proteção da cabeça de Ariel, e tornaram a olhar-se, a olhar-se de verdade. Chyna viu a moça que existia por trás daquele rosto adorável, a moça genuína dentro da fortaleza segura do crânio, onde Edgler Vess só poderia penetrar com um tremendo esforço, se é que conseguiria.
Mas, de repente, o olhar de Ariel se transferiu deste mundo para o santuário do seu Outro Lugar.
— "Não!" — disse Chyna, porque não queria perder a jovem que vislumbrara por um instante. Abraçou Ariel, apertou-a com força e murmurou:
— Volte, querida. Está tudo bem. Volte para mim, fale comigo. Mas Ariel não voltou. Depois de retornar ao mundo de Edgler Vess pelo tempo suficiente para abrir as algemas, ela esgotara sua coragem.
— Não posso culpá-la — acrescentou Chyna. — Ainda não saímos daqui. Mas agora só precisamos nos preocupar com os cães.
Embora ainda num reino distante, Ariel deixou que Chyna a pegasse pela mão e a levasse para a escada.
— Podemos dar um jeito em todos aqueles cães, menina — murmurou Chyna. — E melhor acreditar nisso. Ela própria não tinha certeza se acreditava.
Livre das algemas e dos grilhões nos tornozelos, não mais carregando uma cadeira nas costas, com o estômago cheio de bolo e uma bexiga gloriosamente vazia, só precisava pensar nos cães. No meio da escada que levava à lavanderia, ela se lembrou de uma coisa que vira antes; fora desconcertante então, mas era evidente agora — e de vital importância.
— Espere aqui — disse ela a Ariel, pondo a mão inerte da garota no corrimão.
Chyna desceu de novo, foi até os armários de metal, abriu a porta por trás da qual vira as estranhas almofadas com tiras de couro preto e fivelas cromadas. Tirou-as, espalhou-as pelo chão ao seu redor, até deixar o armário vazio.
Não eram almofadas. Eram trajes acolchoados. Um casaco com uma densa camada externa de espuma sob um tecido que parecia mais duro do que couro. Um par de perneiras grossas com um plástico duro sob o acolchoado, quase uma armadura; o plástico era segmentado, com articulações nos joelhos para permitir a flexibilidade do usuário. Havia também protetores para as partes posteriores das pernas, com um escudo de plástico duro para as nádegas, um cinto e fivelas para prender aos protetores dianteiros.
Por trás dos trajes havia luvas e um estranho capacete acolchoado, com um visor de Plexiglas. Ela encontrou também um colete da marca Kevlar, que se parecia exatamente com os coletes à prova de balas dos policiais da SWAT.
Havia uns poucos rasgões pequenos nos trajes, e muitos outros haviam sido costurados com uma linha preta, grossa como uma linha de pescaria. Chyna reconheceu os mesmos pontos que vira nos lábios e olhos do jovem carona. Aqui e ali, nos trajes, havia furos ainda abertos. Marcas de dentes.
Era o traje protetor que Vess usava quando trabalhava com os dobermans.
Ao que tudo indicava, ele usava várias camadas protetoras, o suficiente para andar com segurança entre um bando de leões. Para um homem que gostava de assumir riscos, que acreditava em viver a vida no limite máximo, ele parecia adotar precauções excessivas quando submetia seus dobermans a sessões de treinamento.
As extraordinárias salvaguardas de Vess diziam a Chyna tudo o que ela precisava saber sobre a selvageria dos cães.
Menos de vinte e duas horas se passaram desde o primeiro grito na casa dos Templeton, em Napa. Uma vida inteira. E agora aproximava-se outra meia-noite, e o que mais estivesse por vir.
Havia dois abajures acesos na sala de estar. Chyna não se importava mais em manter a casa no escuro. Assim que saísse pela porta da frente e enfrentasse os cães, não haveria mais nenhuma esperança de induzir Vess a uma falsa sensação de segurança se voltasse para casa mais cedo.
Segundo o relógio em cima da lareira, eram dez e meia.
Ariel estava sentada numa das poltronas. Abraçava a si mesma, balançava para a frente e para trás, como se estivesse sentindo uma dor de estômago, embora não emitisse nenhum som e o rosto permanecesse impassível.
Os trajes protetores projetados para Vess ficavam enormes em Chyna, e ela vacilava entre se sentir ridícula ou preocupar-se por perigosamente atrapalhada devido à vestimenta volumosa. Enrolara as perneiras e prendera-as com alfinetes de segurança que encontrara numa caixa de costura na lavanderia. As perneiras tinham ganchos para apertá-las e fechos de velcro, o que lhe permitira deixá-las justas o bastante para não escorregarem pelas coxas. Os punhos das mangas acolchoadas estavam dobrados e presos também por alfinetes. O colete Kevlar aumentava o volume de seu corpo, por isso o macacão não estava folgado demais para Chyna. Ela usava também uma gola de plástico duro, segmentado, envolvendo todo o pescoço, para impedir que os cães rasgassem sua garganta. Não poderia estar vestida de forma mais incômoda se estivesse limpando lixo nuclear num reator.
Apesar de tudo, continuava vulnerável em alguns pontos, em particular nos pés e tornozelos. O traje de treinamento de Vess incluía um par de botas de combate de couro com biqueiras de aço, mas eram grandes demais para ela. Como proteção contra cães de ataque, seus Rockports não eram mais eficazes do que chinelos. Para alcançar o trailer sem ser mordida, ela teria de ser rápida e agressiva.
Pensara em levar alguma coisa que servisse como um porrete. Mas com sua agilidade prejudicada pelas camadas de trajes protetores, não poderia usar nada assim com a eficiência necessária para machucar qualquer dos dobermans ou mesmo dissuadi-los de atacar.
Em vez disso, Chyna estava equipada com duas garrafas de plástico com borrifadores, que encontrara no armário da lavanderia. Uma continha um detergente transparente e a outra, um removedor de manchas para usar em tapetes e estofados. Ela esvaziara as duas garrafas na pia da cozinha e as enxaguara. Pensara em enchê-las com um alvejante, mas acabara optando por amônia, de que o meticuloso Vess, que gostava de manter a casa impecável, possuía dois recipientes grandes. As garrafas estavam agora ao lado da porta da frente. O bico de cada uma podia ser ajustado para liberar um borrifo ou um jato, e as duas haviam sido ajustadas para a segunda opção.
Na poltrona, Ariel continuava a se abraçar, balançando para a frente e para trás, em silêncio, olhando para o tapete.
Embora fosse improvável que a catatônica garota se levantasse e fosse a algum lugar por iniciativa própria, Chyna disse:
— Fique aí onde está, menina. Não se mexa, está bem? Voltarei para buscá-la daqui a pouco.
Ariel não respondeu.
— Não saia daí.
As camadas de trajes protetores começavam a pesar demais nos músculos e articulações doloridos de Chyna. Minuto a minuto, o desconforto a tornaria mais lenta, mental e fisicamente. Precisava agir enquanto ainda estava relativamente capaz.
Ela vestiu o capacete dotado de visor, que forrara com uma toalha dobrada para que não ficasse folgado demais, e prendeu a correia por baixo do queixo. O escudo curvo de plexiglas prolongava-se até cinco centímetros abaixo do queixo, mas a parte inferior era aberta para permitir o fluxo de ar. Além disso, havia seis buracos pequenos no centro do visor, para ventilação adicional.
Chyna foi olhar por uma janela e depois pela outra, examinando a varanda, visível sob a luz que se derramava dos abajures da sala de estar. Não havia dobermans à vista.
O pátio além da varanda estava escuro, e a campina além do pátio parecia escura como o outro lado da Lua. Os cães podiam estar parados ali, observando sua silhueta nas janelas iluminadas. Talvez até esperassem do outro lado da grade da varanda, agachados, prontos para saltar.
Ela olhou para o relógio.
Dez e trinta e oito.
— Oh, meu Deus, não quero fazer isso!
Curiosamente, Chyna lembrou-se de um casulo que encontrara quando vivia com a mãe na Pensilvânia, há quatorze ou quinze anos. A crisálida semitransparente pendia do galho de uma faia, iluminada de trás por um raio de sol, o que lhe permitia ver o inseto que estava em seu interior. Era uma borboleta que já havia passado por todo o estágio de ninfa e tornara-se um imago adulto. A metamorfose completa, tremia freneticamente dentro do casulo, mexendo as pernas sem parar, ansiosa por ficar livre, mas também assustada com o mundo hostil em que nasceria. Agora, em sua armadura de enchimento e plástico, Chyna tremia como aquela borboleta, embora nada ansiosa por lançar-se no mundo noturno que a aguardava, mas querendo se retirar ainda mais para o fundo de sua crisálida.
Ela foi até a porta da frente.
Vestiu as luvas de couro manchadas, pesadas mas surpreendentemente flexíveis. Também eram grandes, mas tinham faixas de velcro ajustáveis nos pulsos para mantê-las bem presas.
Ela costurara uma chave no polegar da luva direita, passando a linha pelo buraco. Toda a lâmina serrilhada projetava-se além da ponta do polegar, para que pudesse inseri-la com facilidade na fechadura na porta do trailer. Não queria ter de tirar a chave de um bolso com os cães atacando por todos os lados — e muito menos queria correr o risco de deixá-la cair. É verdade que o veículo podia não estar trancado, mas ela não queria correr riscos desnecessários.
Ela pegou os borrifadores no chão. Um em cada mão. Verificou mais uma vez se estavam na posição correta para esguichar em jatos.
Soltou silenciosamente a tranca da porta, tentou ouvir qualquer som de patas no chão de tábuas, depois entreabriu a porta.
A varanda parecia vazia.
Chyna saiu e tratou de fechar a porta, tendo um pouco de dificuldade com a maçaneta, porque estava segurando as garrafas.
Pôs os dedos nos gatilhos dos borrifadores. A eficácia daquelas armas dependeria da rapidez com que os cães a atacariam, e se conseguiria mirar direito durante a breve oportunidade que lhe dariam. Numa noite tão sem vento quanto escura, o mobile de conchas pendia imóvel. Nem uma única folha se mexia na árvore da extremidade norte da varanda.
A noite parecia imersa num silêncio profundo. No entanto, com os ouvidos cobertos pelo capacete acolchoado, ela não conseguia ouvir pequenos ruídos.
Tinha a estranha sensação de que o mundo inteiro não passava de um detalhado diorama dentro de um peso para papel de vidro.
Sem a menor brisa para levar seu cheiro até os cães, talvez eles não percebessem que ela saíra.
É isso aí, e talvez os porcos tenham asas, apenas não querem que saibamos.
Os degraus ficavam na extremidade sul da varanda. O trailer fora deixado no caminho particular, a seis ou sete metros dos degraus.
De costas para a parede da casa, Chyna foi se deslocando para a direita. Enquanto se movia, olhava a todo instante para a esquerda, o lado norte da varanda, e pelo pátio à sua frente. Nenhum sinal dos cães.
A noite era tão fria que sua respiração formava uma tênue neblina dentro do visor. Cada condensação logo se desvanecia, mas cada uma parecia embaçar mais e mais o plexiglas. Apesar da ventilação por baixo do queixo e pelas seis aberturas redondas no centro do visor, ela começou a se preocupar com o fato de que sua respiração quente acabaria por deixá-la totalmente sem visibilidade. Respirava forte e depressa, não conseguia diminuir o ritmo da respiração, assim como também não conseguia aquietar o coração disparado.
Se soprasse cada expiração, dirigindo o ar para o fundo aberto do escudo que protegia seu rosto, poderia atenuar o problema. Isso resultou num chiado, com uma pequena vibração, revelando a profundidade de seu medo.
Dois pequenos passos arrastando os pés, três, quatro. Ela passou diante da janela da sala de estar. Tinha consciência da luz que vinha por trás, delineando sua silhueta.
Devia ter apagado todas as luzes, mas não queria que Ariel ficasse sozinha no escuro. Em sua atual condição, talvez a moça não percebesse se as luzes estavam apagadas ou acesas, mas parecera errado deixá-la no escuro.
Ao cruzar sem incidentes a metade da distância entre a porta e a extremidade sul da varanda, Chyna criou coragem. Em vez de se deslocar de lado, seguiu direto para os degraus, lançando-se para a frente o mais depressa que o pesado equipamento lhe permitia.
Negro como a noite da qual emergiu, silencioso como as nuvens disformes que deslizavam suavemente pelos campos estrelados, o primeiro doberman saiu da frente do trailer e correu em sua direção. Não latiu nem rosnou.
Chyna quase não o viu a tempo. Por ter esquecido de expirar de maneira calculada, uma onda de condensação espalhou-se por dentro do visor. No instante seguinte, a tênue camada de umidade se dissipou, como uma onda refluindo pela areia, mas o cão já estava ali, saltando para os degraus, as orelhas comprimidas contra a cabeça afilada, os beiços repuxa-dos, deixando os dentes à mostra.
Ela acionou o jato da garrafa que segurava com a mão direita. A amônia esguichou por cerca de dois metros pelo ar parado.
O cão ainda não estava ao alcance quando o primeiro jato atingiu o chão da varanda, mas se aproximava depressa.
Chyna sentiu-se estúpida, como uma criança com uma pistola de água. Não daria certo. Tinha certeza que não. Mas tinha de funcionar, ou ela viraria comida de cachorro.
Tornou a apertar o gatilho, com o cão ainda nos degraus, e o jato caiu antes dele. Ela desejou ter mais pressão, com um jato que pudesse atingir uma distância de seis ou sete metros, a fim de deter o animal antes que chegasse muito perto. Comprimiu o gatilho de novo, enquanto o jato anterior ainda caía, e acertou o cão, já na varanda. Ela visava os olhos, mas o jato acertou o focinho e os dentes à mostra.
O efeito foi instantâneo. O doberman perdeu o equilíbrio e cambaleou na direção de Chyna, ganindo. Teriam trombado se ela não pulasse para o lado.
Com a amônia cáustica enchendo a língua de espuma e os vapores enchendo os pulmões, incapaz de respirar um pouco de ar puro, o cão rolou de costas, com as patas raspando o focinho, frenético. Espirrava e tossia, soltava sons estridentes de aflição.
Chyna deu as costas para o cão e continuou a avançar.
Ficou surpresa ao ouvir a si própria dizendo em voz alta:
— Merda, merda, merda...
Ela chegou aos degraus. Cautelosamente, olhou para trás e viu que o enorme cão estava de pé, cambaleando em círculos, balançando a cabeça. Entre ganidos de dor, soltava espirros violentos.
O segundo cão virtualmente surgiu voando da escuridão, atacando no instante em que Chyna descia para o último degrau. Pelo canto do olho, ela vislumbrou o movimento à sua esquerda, virou a cabeça e deparou com um doberman caindo do céu — oh, meu Deus! — como se fosse um morteiro disparado em sua direção. Embora erguesse o braço esquerdo e começasse a se virar para o animal, não foi rápida o bastante. Antes que pudesse disparar um jato de amônia, foi atingida com tanto impacto que quase caiu. Cambaleou para o lado, mas conseguiu manter o equilíbrio.
Os dentes do doberman estavam cravados na manga grossa do braço esquerdo. Não se limitava a segurá-la, como faria um cão policial, mas atacava a proteção como se estivesse mastigando carne, tentando arrancar um pedaço e lesá-la seriamente, abrir uma artéria para que sangrasse até a morte. Por sorte, no entanto, os dentes não alcançaram a carne.
Depois de atacá-la num silêncio disciplinado, o cão ainda não estava rosnando. Mas do fundo de sua garganta saía um som intermediário entre um grunhido e um ganido voraz, um grito de satisfação que Chyna ouviu perfeitamente dentro do capacete.
A queima-roupa, estendendo a mão direita diante do corpo, ela disparou um jato de amônia nos olhos pretos e ferozes do doberman.
As mandíbulas do cão abriram-se, como se fossem parte de um artefato mecânico acionado por uma mola de pressão, e ele virou-se para o outro lado, a saliva pingando dos beiços pretos, uivando de agonia.
Ela lembrou-se das palavras de advertência no rótulo do recipiente de amônia — Causa lesão substancial mas temporária nos olhos.
Gemendo como uma criança ferida, o cão rolou pela relva, esfregando os olhos com as patas, como o primeiro animal fizera com o focinho, só que num desespero muito maior.
O fabricante recomendava que os olhos contaminados fossem enxaguados com bastante água por quinze minutos. O cão não tinha água, a menos que corresse instintivamente para um açude ou riacho. De qualquer modo, aquele doberman não seria um problema para ela por pelo menos quinze minutos, talvez mais.
O cão levantou-se, perseguiu o próprio rabo, batendo os dentes. Cambaleou, caiu de novo, ergueu-se mais uma vez e disparou pela noite, sentindo uma dor considerável, temporariamente cego.
Por incrível que pudesse parecer, ouvindo os gritos do pobre animal enquanto se adiantava apressadamente para o trailer, Chyna estremeceu de remorso. Teria sido dilacerada sem a menor hesitação se o doberman conseguisse alcançá-la, mas era um matador implacável apenas por causa do treinamento, não por natureza. De certa forma, os cães eram apenas outras vítimas de Edgler Vess; suas vidas foram distorcidas para servir aos propósitos dele. Ela os teria poupado de muito sofrimento se pudesse depender apenas do traje protetor.
Quantos cães ainda apareceriam?
Vess insinuara que formavam uma matilha. Ele dissera quatro? Podia estar mentindo, claro. Talvez fossem apenas dois. Depressa, depressa, depressa.
Ela experimentou a maçaneta da porta do passageiro do trailer. Trancada.
Chega de cães. Apenas cinco segundos sem cães, por favor.
Ela largou a garrafa da mão direita, a fim de poder segurar firmemente a chave entre o polegar e o indicador. Mal conseguia senti-la através das luvas grossas.
Sua mão tremia. Errou a abertura, a chave bateu na parte cromada da fechadura. Teria caído se não estivesse costurada na luva.
Por trás, desta vez, no instante em que tentava enfiar a chave novamente, um doberman atingiu-a, saltando contra suas costas, tentando morder-lhe a nuca.
Chyna foi lançada para a frente, contra o veículo. O visor do capacete bateu com violência na porta.
Os dentes do cão estavam cravados na gola enrolada do casaco de treinador, sem dúvida também no enchimento de plástico segmentado que ela usava sob o casaco para proteger o pescoço. Pendurou-se nela pelos dentes, atacando-a ineficazmente com as patas, como um amante demoníaco num pesadelo.
O impacto do cão a lançara para a frente, contra o trailer, mas agora o seu peso e movimentos furiosos arrastavam-na para longe do veículo. Quase caiu para trás, mas sabia que a vantagem seria do cão se conseguisse arrastá-la para o chão.
Fique em pé. Não caia. Virando-se cento e oitenta graus, enquanto lutava para manter o equilíbrio, ela verificou que o primeiro doberman não estava mais na varanda. Era espantoso, mas a criatura pendurada em seu pescoço devia ser a mesma que acertara com amônia no focinho. Recuperara o fôlego, retornara ao serviço, sem se intimidar com o arsenal químico de Chyna, dando tudo de si por Edgler Vess.
Vendo a situação pelo lado positivo, talvez houvesse apenas dois cães.
Ela ainda tinha o borrifador na mão esquerda. Apertou o gatilho, apontando para trás, por cima do ombro, mas as mangas grossas do casaco quase não lhe permitiam dobrar os braços, e não tinha como disparar num ângulo que esguichasse a amônia nos olhos do cão.
Chyna jogou-se de costas contra a lateral do trailer, como fizera antes na lareira. O doberman ficou prensado entre ela e o veículo, como acontecera antes com a cadeira, e recebeu a maior parte do impacto.
O cão largou-a, caiu no chão, soltou um ganido, um som lamentável que a deixou consternada, mas também um bom som — isso mesmo, um bom som, doce como música.
Com as fivelas retinindo, as perneiras acolchoadas batendo uma na outra, Chyna deslocou-se de lado, tentando ficar fora do alcance do animal, preocupada com seus tornozelos, seus vulneráveis tornozelos.
Mas subitamente o doberman não mais parecia ter ânimo para lutar. Afastou-se, com o rabo entre as pernas, virando os olhos para mantê-la vigiada à distância, tremendo e espirrando, como se tivesse um pulmão avariado, arrastando a perna traseira direita.
Ela apertou o gatilho do borrifador. A criatura estava fora de alcance e o jato de amônia caiu na relva.
Dois cães fora de ação.
Depressa, depressa.
Chyna tornou a virar-se para o trailer, e gritou quando um terceiro cão, mais pesado do que ela, saltou em direção à sua garganta, mordeu o casaco e a fez cambalear para trás.
Caindo. Merda. E quando ela caiu, o cão subiu em cima dela, mastigando furiosamente a gola do casaco.
Ao bater no chão, o impacto a deixou sem fôlego, apesar de todo o acolchoamento da roupa. O borrifador escapou de sua mão, voou pelo ar. Ela tentou pegá-lo na queda, mas errou.
O cão conseguiu soltar uma parte do enchimento da proteção do pescoço e sacudiu a cabeça, lançando gotas de saliva espumante no visor que protegia o rosto. Tornou a atacar, cravando os dentes de novo no mesmo lugar, ainda mais fundo, procurando carne, sangue, triunfo.
Chyna bateu em sua cabeça afilada com as mãos, tentando esmagar as orelhas, na esperança de que fossem sensíveis, vulneráveis.
— Saia de cima de mim, seu desgraçado! Saia!
O cão tentou abocanhar sua mão direita, errou, os dentes bateram forte, tentou de novo, dessa vez conseguiu. Os incisivos não penetraram de imediato pela grossa luva de couro, mas ele sacudiu a cabeça com todo vigor, como se tivesse apanhado um rato e tentasse partir sua espinha. Embora a pele não se houvesse rompido, a pressão da mordida era tão dolorosa que Chyna gritou.
Num instante, o cão soltou sua mão e tornou a morder a garganta. Além do casaco rasgado. Os dentes rasgando o colete Kevlar.
Berrando de dor, Chyna estendeu a mão direita latejante em direção à garrafa de spray caída na relva. A arma encontrava-se um palmo além de seu alcance.
Quando ela virou a cabeça para olhar a garrafa, inadvertidamente fez o fundo do visor levantar, oferecendo ao doberman acesso fácil à sua garganta. No mesmo instante o animal estendeu o focinho por baixo da curva do plexiglas, por cima do colete Kevlar, mordendo o acolchoado grosso da gola de plástico duro segmentado que era a última defesa de Chyna. Empenhado em arrancar aquela faixa de armadura, o cão puxou-a com tanta força que a cabeça de Chyna foi levantada do chão, e a dor explodiu em sua nuca.
Ela tentou se desvencilhar do doberman. O animal era pesado, comprimia-se contra ela obstinadamente, as patas batiam em seu corpo.
Enquanto o cão puxava a gola protetora, Chyna podia sentir a respiração quente dele por baixo do queixo. Se ele enfiasse o focinho por baixo da proteção num ângulo melhor, poderia mordê-la no queixo, e a qualquer momento perceberia isso.
Chyna tentou erguer-se com toda a sua força, com o cão ainda por cima dela, mas conseguiu se aproximar da garrafa em alguns centímetros. Deu outro impulso e agora a garrafa ficou a apenas quinze centímetros de seus dedos estendidos.
Ela viu o outro doberman se aproximando, mancando, pronto para entrar na batalha. Não afetara os pulmões dele, afinal de contas, quando o jogara contra o trailer.
Dois cães. Jamais conseguiria resistir a dois ao mesmo tempo, ambos em cima dela.
Ela ergueu o corpo de novo, desesperada, arrastando-se de lado, de costas, levando o doberman por cima.
A língua quente do cão lambeu a parte inferior do queixo de Chyna, provando o suor dela. Aquele som gutural horrível tornava a subir do fundo de sua garganta.
Força.
Avistando seu ponto de maior vulnerabilidade, o cão que mancava avançou sobre seu pé direito. Chyna chutou-o, o cão recuou, mas tornou a avançar. Ela chutou mais uma vez, e o doberman mordeu o calcanhar de seu Rockport.
A respiração frenética de Chyna embaçou o interior do visor. A respiração do doberman por cima dela também contribuía para isso, porque ele estava com o focinho por baixo do plexiglas. Ela estava praticamente sem visibilidade.
Chutava com os dois pés para bloquear o avanço do cão manco. Chutava e se arrastava para o lado.
A língua quente babou em seu queixo. O bafo azedo. Dentes mastigando a dois ou três centímetros de sua pele. A língua de novo.
Chyna tocou no borrifador. Seus dedos se fecharam ao redor.
Embora a mordida não tivesse penetrado na luva, a mão ainda latejava tanto da dor que ela teve medo de não ser capaz de segurar a garrafa direito, de não conseguir acionar o gatilho. Mas depois, às cegas, esguichou um jato de amônia. Sem pensar, usara o dedo indicador inchado, e a pontada de dor deixou-a tonta. Deslocou o dedo médio para o gatilho e apertou outra vez.
Apesar dos chutes, o cão ferido mordeu através do sapato. Os dentes penetraram em seu pé direito.
Chyna disparou outro jato de amônia na direção dos pés, e mais outro. Abruptamente, esse doberman largou-a. Tanto ela quanto o cão gritavam, cegos e tremendo, partilhando agora um mundo de dor. Dentes estalando. O cão restante. Pressionando para alcançar seu queixo, por baixo do visor. Os dentes batendo. E um uivo ansioso.
Ela bateu com a garrafa na cara do animal, comprimiu o gatilho, uma, duas vezes, e o cão saiu de cima dela, ganindo.
Algumas gotas de amônia penetraram no visor, através dos pequenos buracos no centro. Ela não conseguia enxergar através do plexiglas embaçado, e os vapores acres tornavam a respiração difícil.
Ofegante, com os olhos lacrimejantes, ela largou a garrafa de spray e engatinhou para o lugar onde pensava estar o trailer. O pé mordido estava quente, talvez por causa do sangue no sapato, mas dava para apoiar-se nele.
Três cães até agora. Se há três, então com certeza há quatro. O quarto logo atacaria.
Enquanto a amônia se evaporava do visor e, mais lentamente, da frente do casaco rasgado, a quantidade de vapores diminuiu, mas não depressa o bastante. Chyna estava ansiosa por tirar o capacete e respirar fundo, sem nenhuma obstrução, mas não ousava, pelo menos até entrar no trailer.
Sufocada pelos vapores de amônia, tentando se lembrar de expirar para baixo, sob o visor de plexiglas, mas meio cega porque os olhos não paravam de lacrimejar, Chyna tateou pela lateral do trailer até encontrar de novo a porta da cabine. Surpreendeu-se ao descobrir que conseguia pisar com o pé mordido, apenas com pontadas de dor toleráveis.
A chave continuava presa na luva direita. Ela segurou-a entre o polegar e o indicador.
Um cão gania a distância, provavelmente o primeiro em cujos olhos ela esguichara amônia. Mais perto, outro uivava desesperado. Um terceiro, gemia, espirrava, engasgado com os vapores.
Mas onde estava o quarto?
Apalpando o cilindro da fechadura, ela acabou encontrando o buraco. Abriu a porta. Subiu para o banco do passageiro.
Ao fechar a porta, alguma coisa se chocou com o lado de fora. O quarto cão.
Chyna tirou o capacete, as luvas. Tirou o casaco acolchoado.
Com os dentes à mostra, o quarto doberman saltou em direção à janela lateral. As patas bateram no vidro e depois o animal caiu sobre a relva, fitando-a com uma expressão furiosa.
Revelado pela luz do estreito corredor, o corpo de Latira Templeton continuava na cama, num emaranhado de algemas e correntes, envolto pelo lençol.
O peito de Chyna contraiu-se de emoção, a garganta inchou tanto que ela teve dificuldade para engolir. Disse a si mesma que o cadáver na cama não era Laura de fato. A essência de Laura desaparecera, aquilo era apenas a casca, apenas carne e osso, na longa jornada em direção ao pó. O espírito de Laura viajara pela noite para um lar mais alegre e aconchegante, não havia sentido em derramar lágrimas por ela, porque já transcendera.
A porta do closet estava fechada. Chyna tinha certeza de que o rapaz morto continuava lá dentro.
Nas quatorze horas ou mais desde que saíra do quarto do trailer, o ar abafado adquirira um cheiro tênue, mas repulsivo, de decomposição. Ela esperava por algo pior. Mesmo assim, respirou pela boca, tentando evitar o cheiro.
Acendeu o abajur e abriu a gaveta superior da mesinha de cabeceira. Os itens que descobrira na noite anterior continuavam ali, batendo uns nos outros com as vibrações do motor, transmitidas através do chão do trailer.
Ficara nervosa por deixar o motor ligado, porque o som encobriria a aproximação de outro veículo, caso Vess voltasse mais cedo para casa. Mas precisava de luz, e não queria correr o risco de esgotar a bateria.
Tirou da gaveta os chumaços de gaze, o rolo de esparadrapo e a tesoura.
Foi se sentar numa poltrona na área de repouso por trás da cabine. Antes, tirara todo o equipamento protetor. Agora, removeu o sapato direito. A meia estava encharcada de sangue; tirou-a.
O sangue saía escuro e grosso de dois furos no pé. Só que escorria, não esguichava, e daquele ferimento ela não morreria.
Comprimiu chumaços de gaze sobre os furos, prendeu-os com esparadrapo. Apertou bem o esparadrapo para que o curativo aplicasse um pouco de pressão e diminuísse ou mesmo estancasse a hemorragia.
Teria preferido saturar os ferimentos com Bactine ou iodo, mas não dispunha de nenhum dos dois. De qualquer modo, uma possível infecçâo só começaria dentro de algumas horas, e a essa altura já teria saído dali e providenciado ajuda médica. Ou estaria morta devido a outras causas.
A possibilidade de contrair raiva parecia mínima, quase nula. Edgler Vess devia ser preocupado com a saúde de seus cães. Deviam receber todas as vacinas.
A meia estava fria e ensangüentada, e ela nem tentou vesti-la de novo. Enfiou o pé com o curativo improvisado no sapato e amarrou-o com mais folga que o habitual.
Havia uma escada dobrável de metal no espaço estreito entre os armários da cozinha e a geladeira. Chyna levou-a pelo curto corredor da traseira do veículo e abriu-a sob a clarabóia, que era um painel liso de plástico fosco com cerca de um metro de comprimento e meio metro de largura.
Ela subiu na escada para examinar a clarabóia, esperando que pudesse ser aberta para deixar entrar ar fresco ou que estivesse presa no teto pelo lado de dentro. Infelizmente, o painel era fixo, sem função de ventilação, e fora instalado pelo lado de fora. Não era possível alcançar os parafusos ou rebites por dentro.
Por baixo dos trajes acolchoados ela pusera um cinto de ferramentas que encontrara numa das gavetas da bancada de trabalho de Vess. Pegara-o com o resto dos equipamentos, e ele estava agora sobre a mesa de jantar.
Sem poder adivinhar de que ferramentas precisaria, ela trouxera um alicate comum, um alicate de ponta fina, limas e chaves de fenda de vários tamanhos, inclusive chaves Phillips. Havia também um martelo, a única coisa que seria útil.
No primeiro degrau da escada de dois degraus, sua cabeça ficou a um palmo da clarabóia. Virando o rosto, ela bateu com o martelo, segurando-o com a mão esquerda. A cabeça de aço chocou-se contra o plástico fazendo um tremendo barulho.
A clarabóia continuava intacta.
Chyna continuou a bater com o martelo, persistentemente. Cada golpe reverberava por cima da cobertura de plástico, mas também por todos os seus músculos doloridos e cansados, chegando aos ossos.
O trailer tinha pelo menos quinze anos de fabricação, e aquela parecia ser a clarabóia original, instalada pela fábrica. Não era feita de plexiglas, mas de algum material menos resistente; com os muitos anos de sol e mau tempo, o plástico fora se tornando mais frágil. O painel retangular acabou rachando ao longo da armação. Chyna martelou na fissura, ampliando-a até o canto e depois para os lados.
Teve de parar várias vezes, a fim de recuperar o fôlego e mudar o martelo de uma mão para a outra. O painel finalmente ficou frouxo na armação; parecia agora preso apenas por lascas do material ao longo da fissura.
Chyna largou o martelo, flexionou as mãos algumas vezes para superar a rigidez, e depois encostou as palmas no plástico. Grunhindo devido ao esforço, ela empurrou para cima, enquanto subia para o segundo degrau da escada.
Com um estalo de plástico cedendo, o painel ergueu-se por dois ou três centímetros, as beiras arrebentadas rangendo. Depois, ela teve de se dobrar para trás enquanto o quarto lado, rangendo, resistia... resistia... até que ela soltou um grito de frustração, encontrou novas reservas de energia e empurrou com mais força ainda. Abruptamente, o quarto lado rachou em toda a sua extensão, com um estalo alto como o estampido de um tiro.
Ela empurrou o painel, que escorregou pelo teto e caiu ruidosamente no chão.
Através do buraco acima da cabeça, Chyna viu as nuvens se afastarem de repente da lua. Uma claridade fria banhou seu rosto erguido. No céu insondável brilhava o fogo frio e puro das estrelas.
Chyna tirou o trailer do caminho particular e levou-o para a frente da casa, paralelamente à varanda, o mais próximo que podia chegar. Deixou o enorme veículo rolar devagar, preocupada em não arrancar a grama, porque por baixo o terreno poderia estar lamacento, mesmo meio dia depois de a chuva ter cessado. Não podia correr o risco de atolar.
Quando chegou ao ponto que queria, pôs o veículo em ponto morto e puxou o freio de mão. Deixou o motor ligado.
A escada caíra no pequeno corredor no fundo do trailer. Ela endireitou -a, subiu os dois degraus e levantou a cabeça para o ar noturno, por cima da abertura da clarabóia destruída.
Desejou que a escada tivesse um terceiro degrau. Precisava fazer força para se erguer, e o ângulo não era favorável como gostaria.
Ela pôs as mãos no teto, em lados opostos da abertura retangular de meio metro, fez força para erguer o corpo. O esforço foi tão grande que pôde sentir os tendões se esticando entre o pescoço e os ombros, a pulsação soando como tambores do Juízo Final nas têmporas e carótidas, todos os músculos dos ombros e das costas tremendo.
Era inevitável que a dor e a exaustão frustrassem seu empenho. Mas depois ela pensou em Ariel na poltrona da sala de estar, balançando para a frente e para trás, encolhendo-se, com uma expressão distante nos olhos, os lábios abertos no que poderia ser um grito silencioso. Essa imagem da moça proporcionou um novo vigor a Chyna, levou-a a descobrir capacidades até então desconhecidas. Os braços trêmulos esticaram-se devagar, tirando seu corpo do corredor, e ela jogou os pés para cima devagar, como se fosse uma nadadora subindo das profundezas. Finalmente os cotovelos ficaram no mesmo plano dos braços, e ela saiu pela clarabóia para o teto.
Na passagem, a suéter se prendera em alguns fragmentos de plástico na armação da clarabóia, pontas penetraram pelos fios e arranharam sua barriga, mas Chyna se livrou delas.
Rastejou para a frente, virou de costas, tateou a barriga para verificar a gravidade dos cortes. Saía sangue de dois pontos, mas os ferimentos eram superficiais.
De algum lugar distante na noite vinham os ganidos de pelo menos dois cães feridos. Os gritos patéticos estavam tão impregnados de medo, vulnerabilidade, sofrimento e solidão que Chyna mal suportava escutá-los.
Ela deslocou-se para a beirada do teto e olhou para o pátio a leste da casa.
O doberman ileso circulava em frente ao trailer e avistou-a imediatamente. Postou-se diretamente abaixo dela, fitando-a, os dentes à mostra. Parecia indiferente ao sofrimento dos três companheiros.
Chyna afastou-se da beirada do teto e levantou-se. A superfície de metal estava um pouco escorregadia devido ao orvalho, e mais uma vez ficou feliz por estar calçando sapatos com solas de borracha. Se perdesse o equilíbrio e caísse no pátio, sem armas e sem o traje protetor, o único doberman restante a dominaria e dilaceraria sua garganta em apenas dez segundos.
O trailer estava poucos centímetros abaixo da beirada do telhado da varanda. Ela estacionara tão perto que a distância entre o veículo e a casa era de pouco mais que um palmo.
Ela ergueu o pé sobre esse espaço, passou para o telhado inclinado da varanda. As telhas tinham uma textura arenosa e não eram tão traiçoeiras quanto o teto do veículo.
A inclinação também não era muito grande, e Chyna subiu com facilidade até a fachada da casa. A chuva recente liberara um cheiro forte das numerosas camadas de creosoto com que os troncos haviam sido tratados ao longo dos anos.
A janela de guilhotina no quarto de Vess no segundo andar tinha uma abertura de cinco centímetros, como ela a deixara antes de sair da casa. Enfiou as mãos doloridas pela abertura e, gemendo, ergueu o painel de baixo. Com aquele tempo úmido, a madeira estufara e a janela emperrou duas vezes, mas ela conseguiu erguê-la.
Entrou pela janela no quarto de Vess, onde deixara uma luz acesa.
No corredor lá em cima, olhou pela porta aberta em frente ao quarto. O escritório escuro ficava adiante, e Chyna ainda se afligia com a impressão de que havia alguma coisa que perdera, algo essencial que deveria saber sobre Edgler Vess.
Mas não tinha tempo para um trabalho adicional de detetive. Desceu apressada para a sala de estar.
Ariel continuava encolhida na poltrona onde a deixara. Ainda se abraçava e balançava o corpo, perdida.
Segundo o relógio no consolo da lareira, passavam quatro minutos das onze horas.
— Espere aqui — determinou Chyna. — Só mais um minuto, meu bem.
Ela passou pela cozinha a caminho da lavanderia, à procura de uma vassoura. Encontrou uma vassoura e um esfregão. Este tinha um cabo mais comprido e por isso ela o preferiu. Ao voltar à sala de estar, ouviu um som temido e familiar. Um rangido.
Ela olhou para a janela mais próxima e viu o doberman ileso arranhando o vidro com as patas. As orelhas pontudas estavam levantadas, mas colaram-se ao crânio quando Chyna olhou para ele. O doberman emitiu o já familiar ganido ansioso, que arrepiou os cabelos na nuca de Chyna.
O rangido continuou.
Ao se desviar do cão, Chyna encaminhou-se para Ariel — e foi então que teve sua atenção atraída para a outra janela da sala. Havia outro doberman ali.
Só podia ser o primeiro que ela encontrara ao sair da casa, o mesmo animal em cujo focinho esguichara amônia. Recuperara-se depressa e mordera seu pé, quando ficara imobilizada no chão pelo terceiro cão.
Chyna tinha certeza de que cegara o segundo cão, que saltara sobre ela vindo da escuridão como se fosse um morteiro. Também cegara o terceiro animal. Até agora, presumira que na segunda oportunidade deixara este animal com os olhos danificados.
Pois se enganara.
Na ocasião, é claro, ela própria ficara quase 'cega' pelo visor embaçado — e frenética, porque o terceiro cão a mantinha no chão, mastigava a proteção em sua garganta, lambia seu queixo. Tudo o que sabia era que o animal gritara e parará de morder seu pé quando ela esguichara a amônia.
O fluxo de amônia devia ter atingido o focinho do cão na segunda tentativa, como acontecera durante o primeiro confronto.
— O desgraçado tem muita sorte — murmurou ela.
O doberman duas vezes atingido não arranhava o vidro da janela. Apenas observava. Com uma atenção total. As orelhas levantadas. Sem perder um só movimento.
Ou talvez não fosse o mesmo cão, afinal de contas. Talvez houvesse cinco dobermans. Ou seis.
O rangido continuava na outra janela.
Chyna agachou-se em frente a Ariel e disse:
— Está na hora de ir, meu bem.
A garota continuou a balançar o corpo.
Chyna pegou uma das mãos dela. Dessa vez não precisou abrir os dedos de um punho de mármore. Ariel levantou-se quando a puxou pela mão.
Com o esfregão numa das mãos, puxando Ariel com a outra, Chyna atravessou a sala de estar, passando em frente às duas janelas. Movia-se devagar e não olhou diretamente para os dobermans, porque receava que a pressa ou a troca de olhares desafiadores pudessem levar os animais a quebrar o vidro.
Ela e Ariel passaram por uma abertura sem porta para a escada.
Por trás delas, um dos cães começou a latir.
Chyna não gostou disso. Não gostou nem um pouco. Nenhum dos animais latira antes. Seus disciplinados movimentos silenciosos eram assustadores, mas agora o latido era ainda pior do que o silêncio anterior.
Ao subir a escada, puxando a moça, Chyna sentia-se uma velha de cem anos, fraca e esgotada. Queria se sentar e recuperar o fôlego, deixar as pernas doloridas descansarem um pouco. Para se manter em movimento, Ariel precisava de uma constante tensão no braço; sem isso, ela parava e ficava murmurando, sem som. Cada degrau parecia mais alto do que o anterior, como se Chyna fosse a Alice da história atrás do Coelho Branco, o estômago cheio de cogumelos exóticos, subindo por uma escada encantada para algum sinistro país das maravilhas.
Ao virarem-se no patamar e iniciarem o segundo lance da escada, ouviu-se o barulho de vidro quebrado na sala de estar lá embaixo. O som fez com que Chyna se tornasse jovem de novo, capaz de subir como uma gazela uma escada feita para gigantes.
— Depressa!—disse ela a Ariel, puxando-a.
A garota acelerou o ritmo, mas ainda parecia estar se arrastando. Aos saltos, desesperada, querendo alcançar logo o topo do segundo lance da escada, Chyna gritou:
— Depressa!
Latidos furiosos soaram na base da escada.
Chyna entrou no corredor do segundo andar, apertando com força a mão da moça. Podia ouvir os cães subindo a escada, com um ruído mais alto que seu próprio coração.
Para a porta à esquerda. O quarto de Vess.
Ela arrastou Ariel para dentro, bateu a porta. Não havia tranca, apenas a lingüeta de mola acionada pela maçaneta.
Eles são cães, pelo amor de Deus, apenas cães; impiedosos, porém incapazes de girar uma maçaneta.
Um cão jogou-se contra a porta, que sacudiu, mas permaneceu firme.
Chyna levou Ariel para a janela aberta e encostou o esfregão na parede.
Os cães arranhavam a porta, latindo sem parar.
Com as duas mãos, Chyna segurou o rosto da moça, inclinou-se e fitou esperançosa aqueles olhos azuis, lindos mas vazios.
— Meu bem, por favor, preciso de você outra vez, como precisei com a furadeira e as algemas. Agora preciso de você mais ainda, Ariel, porque não temos muito tempo, praticamente nenhum, e estamos perto, bem perto de escapar.
Embora os olhos delas estivessem separados por apenas sete ou oito centímetros, Ariel parecia não ver Chyna.
— Quero que me escute, meu bem, onde quer que esteja, escondida na Floresta Encantada ou atrás da porta do guarda-roupa, onde fica Narnia, é lá que você está, querida? Ou talvez Oz, mas onde quer que esteja, escute-me, por favor, e faça o que eu disser. Temos de sair para o telhado da varanda. Não é íngreme, você pode conseguir, mas precisa tomar cuidado. Quero que saia pela janela e dê dois passos para a esquerda. Não para a direita. O telhado não se estende muito para a direita, e você poderá cair. Dê dois passos para a esquerda e fique parada, esperando por mim. Sairei logo atrás. Fique me esperando e a levarei embora daqui.
Ela largou o rosto da garota e abraçou-a com força, amando-a como teria amado uma irmã se tivesse uma, como gostaria de ser capaz de amar a mãe, amando-a por tudo o que passara, por ter sofrido e sobrevivido.
— Sou sua guardiã, meu bem. Sou sua guardiã. Vess nunca mais vai tocá-la, aquele anormal, o filho da puta odioso. Ele nunca mais vai tocá-la. Vou tirá-la deste lugar nojento, levá-la embora para sempre, mas terá de trabalhar comigo, terá de ajudar e escutar, e de tomar cuidado, muito cuidado.
Ela largou a garota e tornou a fitá-la nos olhos.
Ariel ainda se encontrava em Outro Lugar. Não havia nenhum sinal de que ela reconhecera Chyna, como ocorrera por uma fração de segundo no porão, depois que a moça usara a furadeira.
Os latidos haviam cessado.
Havia um som novo e perturbador vindo do outro lado do quarto. Não era o barulho da porta tremendo na armação. Um som de alguma coisa chocalhando. Um som metálico.
A maçaneta se sacudia de um lado para outro. Um dos cães devia estar empurrando-a persistentemente com as patas.
A porta não estava bem ajustada. Chyna percebeu uma falha de um centímetro entre a beirada e o umbral, deixando aparecer um brilho de latão lustroso: a lingüeta do trinco simples. Se a lingüeta não entrasse fundo no umbral, até os movimentos mais simples do cão poderiam abrir a porta, por puro acaso.
— Espere — disse ela a Ariel.
Chyna atravessou o quarto e tentou arrastar a cômoda para a frente da porta.
Os cães deviam ter sentido que ela se aproximara, porque começaram a latir novamente. A velha maçaneta preta de ferro passou a ser sacudida com mais fúria ainda do que antes.
A cômoda era pesada. Mas não havia ali uma cadeira de encosto reto que ela pudesse apoiar sob a maçaneta, e a mesinha de cabeceira não tinha volume suficiente para impedir que os cães empurrassem a porta, se a lingüeta se soltasse do umbral.
Embora fosse muito pesada, ela conseguiu arrastar a cômoda pela metade da porta do quarto. Parecia suficiente.
Os dobermans estavam enlouquecidos, latiam mais ferozmente do que nunca, como se soubessem que ela os impedira de entrar.
Quando Chyna tornou a se virar, Ariel havia desaparecido.
— Não!
Em pânico, ela correu para a janela e olhou.
Radiante sob o luar, com os cabelos prateados agora, em vez de louros, Ariel esperava no telhado da varanda, exatamente dois passos à esquerda da janela, como fora instruída. As costas se comprimiam contra a parede de troncos da casa e ela olhava para o céu, embora ainda devesse estar concentrada em alguma coisa infinitamente mais distante do que meras estrelas.
Chyna estendeu o esfregão pela janela e saiu para o telhado, enquanto os enfurecidos dobermans faziam o maior barulho dentro da casa.
Lá fora, os cães cegos já não gemiam desesperados a distância.
Chyna estendeu a mão para a moça. A mão de Ariel não estava mais rígida e retorcida como antes. Ainda estava fria, mas não inerte.
— Foi bom, menina, foi muito bom. Fez exatamente o que eu lhe disse. Mas sempre espere por mim, está bem? Fique comigo.
Ela pegou o esfregão com a mão livre e levou Ariel até a beirada do telhado da varanda. O espaço entre elas e o trailer era de pouco mais de um palmo, mas era potencialmente grande o perigo para alguém nas condições de Ariel.
— Vamos atravessar juntas, está bem?
Ariel ainda olhava para o céu. Havia em seus olhos cataratas de luar, fazendo-a parecer um cadáver de olhos leitosos.
Assustada, como se os olhos mortiços de luar fossem um presságio, Chyna soltou a mão da companheira e gentilmente forçou-a a inclinar a cabeça para baixo, até que ela olhasse para a abertura entre o telhado da varanda e o trailer.
— Juntas. Dê-me sua mão. Tome cuidado ao dar o passo. Não é largo, nem mesmo precisa pular, não tem de fazer nenhum esforço. Mas se pisar em falso, poderá cair no chão e os cães a pegarão. E se não cair, poderá ainda tropeçar e se machucar.
Chyna passou, mas Ariel não a seguiu.
Ela virou-se para a moça, ainda segurando sua mão inerte, puxou-a gentilmente.
— Vamos, querida, você tem de sair daí. Vamos entregá-lo à polícia, e ele nunca mais poderá fazer mal a ninguém, nem a você, nem a mim, nem a qualquer outra pessoa.
Depois de alguma hesitação, Ariel passou do telhado para o trailer — e escorregou no metal molhado de orvalho. Chyna largou o esfregão e segurou a moça, evitando que ela caísse.
— Estamos quase lá, querida.
Ela tornou a pegar o esfregão e levou Ariel para a clarabóia aberta, onde lhe disse para ficar de joelhos.
— Assim está bom. Agora espere um instante. Falta pouco. Chyna deitou-se de barriga para baixo, inclinou-se pela clarabóia e usou o esfregão para empurrar a escada até o fundo do corredor, fora do caminho. Se caíssem sobre a escada, uma delas poderia quebrar a perna.
Estavam quase escapando. Não podiam correr riscos desnecessários.
Chyna levantou-se e jogou o esfregão no pátio. Abaixando-se de novo, pôs a mão no ombro da garota e disse:
— Agora, enfie as pernas pela abertura e desça. Vamos, meu bem. Sente na beirada, tome cuidado com as pontas de plástico... assim... deixe as pernas penderem. Muito bem, agora caia no chão lá dentro e vá para a. frente. Certo? Está me entendendo? Vá para a frente, em direção à cabine, para que eu não bata em você quando cair.
Chyna deu um empurrão suave na garota, que era tudo o que ela precisava. Ariel caiu dentro do trailer, tropeçou no martelo que Chyna descartara antes, encostou a mão na parede para se firmar.
— Vá para a frente — pediu Chyna.
Por trás dela, uma janela do segundo andar espatifou-se sobre o telhado. Uma das duas janelas do escritório. A porta não estava fechada, e os cães haviam chegado até lá pelo corredor do segundo andar, depois de serem impedidos de entrar pela porta do quarto de Vess.
Ela virou-se e avistou um doberman avançando em sua direção pelo telhado, saltando com tanta velocidade que, ao atingi-la, com toda certeza a derrubaria no pátio.
Chyna virou-se de lado, mas o cão foi muito mais rápido, corrigindo a trajetória no ar. Ao pousar, no entanto, o animal escorregou na superfície orvalhada, as patas riscando o metal, e para espanto de Chyna passou ao lado dela e caiu do teto do veículo, deixando-a incólume.
Uivando, o cão bateu no chão e tentou se levantar em seguida, mas havia alguma coisa errada com sua parte traseira. Não conseguiu ficar de pé. Talvez tivesse quebrado a pélvis. Sentia dor, mas continuava tão furioso que só prestava atenção em Chyna, não em si mesmo. O cão sentou-se, latindo para ela, as pernas traseiras viradas num ângulo anormal.
Sem latir, cauteloso e vigilante, o outro doberman também passou pela janela quebrada do escritório para o telhado da varanda. Esse era o animal em que ela esguichara amônia duas vezes, acertando em ambas no focinho, pois ainda agora sacudia a cabeça e fungava, como se estivesse atormentado por vapores remanescentes. Aprendera a respeitá-la, e não ia se precipitar em sua direção como fizera o outro cão.
Mais cedo ou mais tarde, porém, perceberia que ela não tinha mais o borrifador, que nada segurava que pudesse ser usado como arma, e nesse momento recuperaria a coragem.
O que fazer?
Chyna desejou não ter jogado o esfregão no pátio. Poderia repelir o doberman com o cabo no momento do ataque. Talvez até conseguisse machucá-lo, se batesse com bastante força. Mas o esfregão ficara fora de seu alcance.
Pensar.
Em vez de se aproximar pelo telhado da varanda, o doberman esgueirou-se pela parede da frente da casa, a cabeça baixa, afastando-se dela, mas olhando para trás. Alcançou a janela aberta do quarto de Vess e depois voltou, devagar, olhando alternadamente para os cacos de vidro prateados pelo luar, entre os quais punha as patas com todo cuidado, e para Chyna.
Ela tentou pensar em alguma coisa no trailer que pudesse ser usada como uma arma. A garota poderia ajudá-la.
— Ariel... — chamou ela, baixinho. O cão parou ao som de sua voz.
— Ariel... Mas a moça não respondeu.
Não havia a menor possibilidade. Ariel não poderia ser estimulada à ação depressa o bastante para ajudá-la.
Quando o doberman finalmente atacasse, Chyna não teria sorte como antes. Este não voaria do telhado e escorregaria do trailer sem cravar os dentes nela. No momento de sua investida, ela teria de lutar de mãos vazias.
O cão parou de andar. Ergueu a cabeça preta afilada e olhou para ela, as orelhas levantadas, ofegante.
A mente de Chyna disparou. Nunca antes fora capaz de pensar com tanta lucidez e rapidez.
Embora detestasse desviar seus olhos do doberman, ela espiou pela clarabóia.
Ariel não estava mais no pequeno corredor lá embaixo. Fora para a frente, seguindo sua instrução. Boa menina.
O cão já não ofegava. Mantinha-se rígido e vigilante. Enquanto Chyna observava, as orelhas tremeram e depois grudaram no crânio.
— Foda-se! — disse Chyna, e pulou pela clarabóia aberta para dentro do trailer. A dor explodiu no pé mordido.
A escada, que ela empurrara com o esfregão, estava encostada na porta fechada do quarto. Ela pegou-a e puxou-a, tirando-a de baixo da clarabóia.
Ruído de patas caindo no teto.
Chyna pegou o martelo no chão e meteu na cintura do jeans. Mesmo através da suéter vermelha, o aço era frio em contato com sua barriga.
O cão apareceu na abertura no teto, uma silhueta predadora sob o luar.
Chyna levantou a escada, que tinha uma alça tubular que servia de encosto quando o degrau de cima era usado como banco. Não havia espaço suficiente para usar a escada como um porrete, mas ainda assim era útil. Levantou-a à sua frente, como um domador de leões com uma cadeira.
— Venha, seu filho da puta! — gritou ela para o cão, consternada ao perceber que sua voz tremia. — Venha!
O animal hesitou, cauteloso, na beirada da abertura.
Chyna não ousava desviar os olhos. No instante em que o fizesse, o cão se lançaria em seu encalço.
Alteou a voz, berrando furiosa para o doberman, provocando:
— Vamos logo! O que está esperando? De que tem medo, seu covarde? :j O cão rosnou.
— Venha logo, seu desgraçado! Venha- me pegar.
Sempre rosnando, o doberman saltou. No instante em que pousou no corredor, pareceu quicar no chão e se lançar para cima de Chyna, sem a menor hesitação.
Ela não assumiu uma posição defensiva. Isso seria a morte. Só tinha uma chance. Uma chance mínima. A ação agressiva. No mesmo instante ela avançou para o cão, enfrentando o ataque, estendendo as pernas da escada como se fossem quatro espadas.
O impacto do cão a fez estremecer, quase a derrubou, mas depois o animal recuou, ganindo de dor, talvez atingido com força num olho ou no focinho por uma perna da escada. Tombou para trás, no pequeno corredor.
Ao se levantar, o doberman parecia um pouco trôpego. Chyna continuou a investir, implacável, atingindo-o com as pernas de metal da escada, empurrando-o para trás, mantendo-o desequilibrado para que não pudesse contornar a escada, passar por baixo e morder os tornozelos dela, ou passar por cima e alcançar seu rosto. Apesar dos ferimentos, o cão ainda era rápido e forte, muito forte, ágil como um gato. Os músculos nos braços de Chyna ardiam devido ao esforço, o coração batia tão forte que a visão clareava e escurecia a cada pulsação, mas ela não podia ceder por um segundo sequer. Quando a escada começou a se fechar, comprimindo dois dedos seus, ela abriu-a no mesmo instante, bateu as pernas no cão sem parar, até empurrá-lo contra a porta do quarto. Acuado entre a placa de compensado e as pernas da escada, o doberman se contorcia, rosnava, abocanhava as hastes de metal, arrastava as patas no chão, frenético, tentando escapar. Tinha o peso de Chyna e era todo músculos, e ela não seria capaz de controlá-lo por muito mais tempo. Inclinou o corpo contra a escada, pressionando-a contra o cão, e depois soltou uma das mãos, para poder pegar o martelo na cintura. Não conseguia segurar a escada tão bem com uma só mão, e o cão se ergueu contra a porta do quarto, esticando a cabeça para a frente, abocanhando ferozmente em sua direção, os dentes enormes, a baba saltando dos beiços, os olhos pretos esbugalhados de fúria. Chyna golpeou-o com o martelo. Com um estalo seco, acertou num osso e o cão gritou. Ela tornou a bater, acertando o segundo golpe no crânio. O cão parou de ganir, amou no chão.
Ela recuou.
A escada caiu no chão, fazendo o maior barulho.
O cão ainda respirava, fazendo um chiado horrível. E depois tentou se levantar.
Chyna bateu pela terceira vez. Foi o fim.
Com a respiração entrecortada, pingando um suor frio, ela largou o martelo e cambaleou para o banheiro. Vomitou no vaso, livrando-se do bolo de café de Vess.
Não se sentia triunfante.
Durante toda a sua vida, jamais matara qualquer coisa maior que um besouro de palmito — até agora. A autodefesa justificava a morte, mas não a tornava mais fácil.
Apesar de saber muito bem que restava pouco tempo, ela se deteve na pia para molhar o rosto e enxaguar a boca com água fria.
Seu reflexo no espelho a assustou. Que rosto! Todo machucado e ensangüentado. Olheiras escuras e profundas. Cabelos sujos e emaranhados. Parecia uma louca.
E, em certo sentido, estava louca. Louca de amor à liberdade, com uma ânsia intensa. Finalmente. Livre de Vess e de sua mãe. Do passado. Da necessidade de compreender. Estava louca da esperança de poder salvar Ariel e fazer algo mais do que meramente sobreviver. 0 A garota estava no sofá na área de estar, encolhendo-se, balançando o corpo para a frente e para trás. Emitia seu primeiro som desde que Chyna a vira pela janelinha da porta acolchoada naquela manhã: um gemido baixo e rítmico.
— Está tudo bem, querida. Fique calma agora. Tudo vai dar certo. Vai ver só.
Ariel continuou a gemer e não havia como aquietá-la.
Chyna levou-a para a cabine, sentou-a no banco do passageiro, prendeu o cinto de segurança.
— Vamos sair daqui, meu bem. Está tudo acabado agora.
Ela sentou-se ao volante. O motor continuava funcionando, sem ter esquentado demais. Segundo o mostrador, havia gasolina suficiente. Boa pressão de óleo. Nenhuma luz de advertência acesa.
O painel de instrumentos incluía um relógio. Talvez não funcionasse direito. Afinal, o trailer era velho. O relógio marcava dez minutos para meia-noite.
Chyna acendeu os faróis, soltou o freio de mão e engrenou o veículo.
Lembrou-se de que não devia correr o risco de girar demais as rodas e abrir buracos no gramado. Em vez de acelerar, avançou devagar, saiu de cima da grama, virou à esquerda em direção ao caminho particular, seguindo para leste.
Não estava acostumada a guiar um veículo tão grande quanto o trailer, mas saiu-se bem. Depois de tudo por que passara nas últimas vinte e quatro horas, não haveria um único veículo no mundo que ela não fosse capaz de manejar. Se a única coisa disponível fosse um tanque do exército, ela descobriria uma maneira de operar os controles e o volante para sair dali.
Olhou pelo espelho lateral e viu a casa feita de troncos diminuir lá atrás, na noite de luar. O lugar estava todo iluminado, parecia tão acolhe-dor quanto qualquer casa que ela já conhecera.
Ariel voltara ao silêncio. Inclinava-se para a frente, retida pelo cinto de segurança. Tinha as mãos enfiadas entre os cabelos, apertava a cabeça como se sentisse que ia explodir.
— Estamos a caminho — disse Chyna. — Não falta muito agora.
O rosto da moça não era mais tão plácido como sempre se mantivera desde que Chyna o vislumbrara pela primeira vez, na cela apinhada de bonecas. Também não se mostrava adorável. As feições se contorciam numa expressão de profunda angústia, e ela dava a impressão de estar soluçando, embora não houvesse lágrimas nem qualquer outro som.
Era impossível saber quais tormentos a garota sofria naquele momento. Talvez estivesse com medo de encontrarem Vess e serem detidas a poucos metros do local de fuga. Ou talvez não reagisse a nenhuma coisa imediata, mas se encontrasse perdida em algum momento terrível do passado, ou talvez estivesse reagindo a eventos imaginários no Outro Lugar de fantasia para onde Vess a impelira.
Chegaram ao topo da colina sem vegetação, iniciaram uma descida longa e suave, o caminho cercado de árvores. Chyna tinha certeza de que Vess parará antes e depois de um portão na manhã anterior, quando entrara na propriedade. Calculou que não deviam estar muito longe dele.
Vess não saltara do trailer para abrir o portão. Devia ser operado por controle remoto.
Controlando o volante com uma das mãos, ela levantou a tampa do consolo entre os bancos. Encontrou ali um aparelho de controle remoto no instante em que os faróis iluminavam o portão.
:; A barreira era formidável. Postes de aço. Traves tubulares de aço, barras transversais, arame farpado. Ela pediu a Deus para não ter de arremeter contra aquele obstáculo, porque talvez nem mesmo o enorme trailer conseguisse rompê-lo.
Apontou o controle remoto através do pára-brisa, apertou o botão e gritou "Isso!", triunfante, quando o portão começou a se abrir, deslocando-se para dentro.
Aliviou a pressão no acelerador e pisou no freio, dando tempo à enorme barreira de se abrir por completo, antes de chegar muito perto e obstruí-la.
O medo pulsava dentro dela, como asas frenéticas de um pássaro negro, e de repente teve certeza de que Vess pararia seu carro no caminho, bloqueando a passagem, assim que o portão terminasse de abrir.
Mas passou entre os postes e entrou numa estrada asfaltada, que se estendia para a esquerda e direita. Não havia nenhum carro visível em nenhuma direção.
Para o norte, do lado esquerdo, a estrada subia para uma floresta escura, na direção das nuvens e estrelas, como se fosse uma rampa capaz de levá-las para fora do planeta em direção ao espaço mais profundo.
Para o sul, a estrada descia, fazendo uma curva até sumir, entre campos e arvoredos. A certa distância, talvez uns nove ou dez quilômetros, havia um brilho dourado contra a noite escura, lembrando um leque japonês sobre veludo preto. Era como se uma pequena cidade as aguardasse nessa direção.
Chyna seguiu para o sul, deixando aberto o portão da propriedade de Edgler Vess. Acelerou. Trinta quilômetros horários. Cinqüenta. Manteve o trailer a setenta quilômetros horários, mas parecia fácil imaginar que ia mais depressa que um avião a jato. Voando, livre.
Embora sentisse dores incontáveis e fosse assediada por uma profunda exaustão como nunca experimentara antes, seu espírito se elevava.
— Chyna Shepherd, incólume e viva — murmurou ela, não como uma prece, mas como um relatório a Deus.
Estavam numa área rural, sem casas ou lojas para leste e oeste da estrada, e sem luzes, exceto as que brilhavam a distância, mas mesmo assim Chyna sentia-se banhada de luz.
Ariel continuava a segurar a cabeça, o rosto meigo permanecia atormentado.
— Ariel, incólume e viva. Incólume e viva. Viva. Está tudo bem agora, querida. — Chyna olhou para o velocímetro. — Já nos distanciamos cinco quilômetros e ficamos mais longe a cada minuto, a cada segundo.
Chegaram ao alto de uma elevação e ela contraiu os olhos ao súbito clarão de faróis na direção oposta.
Ficou tensa, porque podia ser Vess.
O relógio marcava três minutos para meia-noite.
Mesmo que fosse Vess, e embora fosse certo que ele reconheceria seu próprio veículo, Chyna sentia-se segura. O trailer era muito maior que o carro dele, e assim ele não conseguiria jogá-la para fora da estrada. Ao contrário, ela o destruiria, se a situação chegasse a esse ponto, e não hesitaria em usar o trailer como um aríete, se não conseguisse se distanciar dele. Mas não era Vess. Enquanto o carro se aproximava, ela viu alguma coisa no teto, pensou a princípio que fosse uma prateleira para esquis, mas depois percebeu que eram luzes de emergência apagadas e o alto-falante de uma sirene. Na noite passada, enquanto seguia Vess para o norte, pela Rodovia 101, em direção à região das sequóias, torcera para encontrar um carro da polícia, e era o que acontecia agora.
Ela tocou a buzina, piscou os faróis e freou o trailer.
— Polícia! — disse ela a Ariel. — Tudo vai acabar bem, querida. Encontramos um policial.
A moça inclinava-se para a frente, abraçando-se, presa pelo cinto de segurança.
Em resposta à buzina e aos faróis piscando, o policial acendeu a luz de emergência, mas não usou a sirene. Chyna foi para o acostamento e parou.
— Podem pegar Vess antes que ele descubra que escapamos e tente fugir.
O carro da polícia já passara por ela. Chyna vislumbrara a inscrição departamento do xerife por baixo do emblema na porta do motorista, as três palavras mais maravilhosas que já lera.
Pelo espelho lateral, observou o carro fazer uma curva em U na estrada. Ultrapassou-a, seguindo para o sul agora, foi parar dez metros adiante, no acostamento de cascalho.
Aliviada e extremamente feliz, Chyna abriu a porta e saltou do banco do motorista. Avançou para o carro de polícia.
Podia ver que havia apenas um policial lá dentro. Usava um chapéu de aba larga. Não parecia ter pressa em desembarcar.
A luz de emergência girando no teto projetava fachos vermelhos no asfalto enluarado, seguido por fachos azuis, como num sonho turbulento, as árvores à beira da estrada pareciam saltar para a frente e depois para trás, para a frente e para trás. Um vento soprou do nada para agitar as folhas mortas e nuvens de poeira pelo asfalto, enquanto as luzes estroboscópicas continuavam a perturbar a quietude da noite.
Quase na metade do caminho para o carro, onde o motorista continuava sentado ao volante, Chyna lembrou-se das pastas no escritório de Vess, e subitamente elas significaram algo muito diferente do que haviam significado antes, assim como as algemas.
Ela parou.
— Oh, meu Deus!
Ela compreendeu tudo.
Deu as costas ao carro preto e branco e correu para o trailer. Sob a luz azul e vermelha, oprimida pela enorme lua, ela tinha a sensação de que corria em câmera lenta, como num sonho, por um ar denso como creme.
Quando alcançou a porta aberta, olhou para o carro da polícia. O policial estava saindo.
Ofegante, Chyna subiu para o banco, fechou a porta.
O policial já saltara do carro. Edgler Vess.
Chyna soltou o freio de mão.
Vess abriu fogo.
O xerife Edgler Foreman Vess, o mais jovem xerife da história do condado, observa pelo espelho lateral enquanto Chyna Shepherd se aproxima apressadamente do carro policial pelo acostamento, e especula se aquela mulher é, afinal de contas, seu pneu furado, a destruidora de seu brilhante futuro. Quando ela pára abruptamente, vira-se e volta correndo para o trailer sob a luz faiscante, o susto de Mr. Vess aumenta.
Ao mesmo tempo, ele está bastante impressionado com ela e não de todo arrependido por terem se encontrado.
— Que sacana esperta que você é! — exclama ele.
Ao sair do carro da polícia, ele saca o revólver, pretendendo acertar um tiro numa das pernas dela. Ainda tem alguma esperança de salvar a situação. Se conseguir imobilizá-la antes que outro motorista apareça, tudo acabará bem. Será muito divertido quando acorrentá-la de novo. Ariel não levantará um dedo para ajudar aquela mulher, e se tentar, vai espancá-la com a pistola até a submissão. Isso estragará os planos que tem para ela, mas há um ano que vem contemplando seu lindo rosto, querendo esmagá-lo, e sentirá uma enorme satisfação ao fazê-lo, mesmo em tais circunstâncias.
Embora Vess seja rápido em saltar do carro, Chyna mostra-se ainda mais veloz. Quando ele levanta o revólver, ela já está sentada ao volante, puxando a porta.
Ele não pode correr nenhum risco agora. Não pode se arriscar a apenas feri-la para se divertir com ela mais tarde. É preciso liquidá-la de uma vez. E Vess dispara seis tiros através do pára-brisa.
Abaixe-se! — gritou Chyna ao ver a arma ser levantada.
Ela empurrou a cabeça de Ariel para baixo do pára-brisa e jogou-se para o lado, meio fora do banco, sobre o consolo aberto. Protegeu a moça da melhor maneira que pôde, fechando os olhos com força e gritando para que ela fizesse a mesma coisa.
Os estampidos ressoaram, um após o outro, tão depressa quanto Vess podia disparar. O pára-brisa implodiu. Fragmentos do vidro de segurança caíram sobre os bancos, derramando-se sobre Chyna e a garota. Outras coisas se partiram e quebraram dentro do trailer, onde as balas se cravavam.
Chyna tentou contar os tiros. Pensou ter ouvido seis. Talvez apenas cinco. Não tinha certeza. Droga! Depois compreendeu que não importava quantos tiros Vess disparara, porque não dera uma boa olhada na arma. Ela não tinha certeza se ele usara um revólver. Uma pistola não teria apenas seis balas; podia ter dez ou mais, muito mais, se tivesse um pente ampliado.
Derrubando punhados de cacos de vidro, Chyna ergueu-se, arriscando-se a levar uma bala no rosto, e olhou através da armação vazia do pára-brisa. Viu Edgler Vess ao lado do carro de polícia, a dez metros de distância. Ele tirava os cartuchos usados da arma, o que indicava que era um revólver.
Ela já soltara o freio de mão. Engrenou o trailer.
De pé, parecendo frio e sem nenhuma pressa, mas mesmo assim com dedos ágeis, Vess tirou um speedloader do bolso do cinturão.
Graças aos amigos criminosos da mãe, Chyna sabia tudo sobre speedloaders. Antes que Vess conseguisse recarregar a arma, ela tirou o pé do freio e pisou fundo no acelerador.
Vamos, depressa.
Vess ajeitou o speedloader no revólver e virou-o. Levantou os olhos, quase casualmente, ao ouvir o barulho do motor.
Chyna seguiu pela estrada, como se pretendesse passar pelo carro de polícia e escapar, mas a intenção era esmagar o louco.
Vess largou o speedloader, fechou o tambor.
Com medo de que Ariel pudesse erguer a cabeça, Chyna gritou: "Fique abaixada!" Ela própria abaixou a cabeça quando uma bala bateu na armação do pára-brisa e ricocheteou para o fundo do veículo.
Ergueu a cabeça no instante seguinte, pois o trailer estava em movimento e ela precisava ver o que fazia. Virou o volante para a direita, seguindo na direção de Vess, parado ao lado da porta aberta do carro.
Ele disparou de novo, e Chyna parecia olhar direto pelo buraco do cano quando houve a explosão. Ouviu um estranho zumbido, não muito diferente da passagem de um marimbondo numa tarde de verão, e sentiu o cheiro de alguma coisa queimada, como cabelo chamuscado.
Vess mergulhou para dentro do carro, na tentativa de se esquivar. O trailer bateu na porta aberta, arrancando-a, talvez arrancando também uma ou até as duas pernas do desgraçado.
A fragrância dos tiros sempre lembra o xerife Vess do cheiro de sexo, talvez porque recenda a calor, ou talvez porque haja na pólvora um vestígio do odor de amônia que é mais forte no sêmen; mas não importa qual a razão, os tiros o excitam e provocam uma ereção instantânea. Ao pular para dentro do carro, ele solta um grito vigoroso. O barulho do trailer está ao seu redor, em cima dele, os faróis ardendo, um tumulto enorme, como se estivesse mantendo contatos imediatos de terceiro grau com alienígenas. Ao mergulhar em busca de segurança, ele puxa as pernas para dentro do carro, sabendo que será por pouco, por um triz, e é isso que é divertido. Alguma coisa bate com força em seu pé direito, um vento frio o envolve, a porta do carro é arrancada e rola ruidosamente pelo asfalto no momento em que o trailer passa zunindo.
O pé direito do xerife fica dormente; ainda não sente dor, mas acha que pode ter sido esmagado ou arrancado. Ao se sentar ao volante, põe o revólver no coldre e se abaixa, para sentir com a mão o coto esperado, o fluxo de sangue quente. Descobre que o pé está intacto. O salto da bota foi arrancado. Apenas isso. Nada mais. O salto de borracha.
O pé está dormente, a perna coca até o joelho, mas ainda assim o xerife solta uma risada.
— Vai pagar o sapateiro, sua puta.
O trailer está a uns sessenta metros adiante, seguindo para o sul.
Por não ter desligado o motor ao parar no acostamento, ele precisa apenas soltar o freio de mão e engrenar. Os pneus levantam uma tempestade de cascalho, fazendo um barulho enorme no chassi. O carro de polícia salta para a frente. A borracha quente geme como bebês sentindo dor, os pneus sobem no asfalto e Vess dispara no encalço do trailer.
Tarde demais, distraído pelo pé dormente e a ansiedade afoita de pegar a mulher, ele percebe que o enorme veículo não segue mais para o sul. Engrenou a marcha à ré e avança em direção a Vess, talvez a cinqüenta quilômetros horários, até mais.
Ele pisa no freio, mas antes que possa virar o volante para a esquerda a fim de sair do caminho, o trailer o atinge, com um estrondo horrível, como tivesse batido num muro de pedra. Sua cabeça é lançada para trás, e depois ele é atirado contra o volante com tanta força que perde o fôlego por completo, enquanto a escuridão turva sua visão.
O capo entorta e se abre com um estalo, e ele não consegue ver mais nada através do pára-brisa, mas ouve os pneus rangendo, sente o cheiro de borracha queimando. O carro de polícia é empurrado para trás. Embora a colisão tenha reduzido muito a velocidade do trailer, ele volta a rodar cada vez mais rápido.
Vess tenta engrenar a marcha à ré, calculando que conseguirá se afastar do trailer mesmo enquanto é empurrado, mas o câmbio primeiro emperra obstinadamente em sua mão, depois encaixa no ponto morto e fica imóvel. A transmissão quebrou.
Pior ainda: ele desconfia que a frente arrebentada do carro está presa na traseira do trailer.
Ela vai jogá-lo para fora da estrada. Em alguns trechos, a queda do acostamento chega a dois ou três metros, numa inclinação bem íngreme. Ou seja, é inevitável que o carro capote se for empurrado pela beirada. E o que é pior, se estiverem realmente engatados e se a mulher não tiver total controle do trailer, é provável que também saia da estrada, caindo em cima do carro de polícia e esmagando-o.
Talvez seja isso que ela tenta fazer.
É uma mulher diferente de todas as outras, sem dúvida; à sua maneira, é até parecida com ele. Vess admira-a por isso.
Ele sente o cheiro de gasolina. Não é um bom lugar para se estar.
Á direita do painel central e do rádio (que ele desligou ao avistar o trailer e constatar que era o seu) há uma escopeta presa a suportes no painel. É capaz de disparar cinco balas, e o xerife Vess sempre a mantém carregada.
Ele estende a mão para a escopeta, tira-a dos suportes, segura-a com as duas mãos e desliza para a esquerda, por trás do volante. Salta pelo buraco deixado pela porta arrancada.
Estão correndo em marcha a ré a trinta ou quarenta quilômetros por hora e adquirindo velocidade, pois o carro está em ponto morto e já não resiste ao movimento. O asfalto se projeta ao seu encontro e ele bate no chão e rola, mantendo os braços junto ao corpo, com a esperança de não quebrar nenhum osso, apertando a escopeta. Inclina-se em diagonal sobre a estrada, até o acostamento da faixa para o norte. Tenta manter a cabeça erguida, mas logo sofre uma pancada e depois outra. Sente a dor com satisfação, solta um grito de alegria, deleitando-se com a incrível intensidade daquela aventura.
Chyna observava pelo espelho lateral quando Edgler Vess saltou do carro, bateu no asfalto e rolou pela estrada.
— Merda!
Quando ela conseguiu parar, gritando pela pontada de dor no pé mordido, Vess estava estendido de barriga para baixo no acostamento, cem metros para o sul. Estava completamente imóvel. Embora não acreditasse que o tombo o matara, Chyna tinha certeza de que ele estava inconsciente ou pelo menos atordoado.
Não era capaz de atropelá-lo enquanto estivesse impotente. Mas também não esperaria para lhe dar uma chance justa.
Prendeu o cinto de segurança de três pontos. Desconfiava que iria precisar.
Enquanto passava a marcha e dava a partida, ela sentiu um ardor intenso no lado direito da cabeça. Levantou a mão para verificar o que era e descobriu que estava sangrando. O zumbido de marimbondo fora uma bala roçando sua cabeça, abrindo um sulco superficial com sete ou oito centímetros de comprimento. Mais um pouco e teria arrancado o lado de seu crânio. Isso também explicava o cheiro de queimado que sentira: chumbo quente, cabelos chamuscados.
Ariel estava sentada sob um manto reluzente de cacos de vidro. Olhava pelo buraco do pára-brisa na direção de Vess, mas sua expressão continuava impassível.
As mãos da moça sangravam. O coração de Chyna disparou à visão do sangue, mas logo percebeu que os ferimentos eram apenas pequenos cortes, nada de mais grave. Os cacos de vidro temperado não causaram nenhum ferimento mortal, mas eram pontiagudos o suficiente para cortar a pele.
Quando tornou a olhar para Vess, ele estava de quatro. E havia uma escopeta a seu lado.
Chyna pisou no acelerador.
Houve um estrondo na traseira do trailer. O veículo tremeu todo. Outro estrondo e depois um fragor intenso, enquanto a velocidade aumentava.
Ela olhou pelo espelho lateral e viu uma chuva de faíscas, com o aço arrebentado sendo arrastado pelo asfalto.
O carro de polícia avariado continuava atrás dela, fazendo o maior barulho. Ela o arrastava.
A orelha direita do xerife Vess está bastante machucada, quase arrancada, e o cheiro de seu sangue é como o vento de janeiro soprando por campos nevados numa encosta alta de montanha. Um zumbido forte nos dois ouvidos lembra-o do gosto amargo e metálico da aranha na casa dos Templeton, que ele trata de saborear.
Ao se levantar, com todos os ossos ilesos, reprimindo o interessante impulso azedo de vomitar, ele pega a escopeta. Fica satisfeito ao verificar que parece intacta.
O trailer avança pela estrada em sua direção, a cerca de cinqüenta metros de distância, mas aproximando-se depressa, como um rolo compressor.
Em vez de sair correndo da estrada para o bosque ao lado, esquivando-se do veículo, ele avança em sua direção, fazendo uma volta para a direita, a fim de se postar ao lado dele quando passar. Está mancando, não porque tenha ferido a perna, mas apenas porque perdeu o salto da bota direita.
Mesmo assim, Vess ainda é mais ágil do que o pesado veículo, e a mulher percebe que não conseguirá atropelá-lo. Ela também vê, sem dúvida, a escopeta, e puxa o volante para a direita, desviando-se dele, disposta a se contentar com a fuga em vez da vingança.
Ele não tem a intenção de estourar a cabeça dela através do pára-brisa já espatifado ou da janela lateral, em parte porque começa a se impressionar com sua capacidade de recuperação e acha que não conseguirá causar danos suficientes para detê-la. Além disso, é mais fácil parar e atirar da cintura do que erguer a arma e mirar — e disparar da cintura significa dar um tiro baixo.
O recuo dos três primeiros tiros, disparados tão depressa quanto pôde, quase derruba o xerife, mas eles estouram o pneu da frente, no lado direito.
A menos de dois metros dele, o trailer começa a derrapar. Tiras de borracha do pneu arrebentado rodopiam no ar. Enquanto o veículo passa, Vess usa os dois últimos cartuchos para estourar o pneu traseiro do lado do motorista.
Agora Ms. Chyna Shepherd, incólume e viva, está em apuros.
O volante deslocou-se de um lado para outro nas mãos de Chyna, queimando as palmas, enquanto ela tentava controlá-lo.
Pisou no freio, o que pareceu um erro absoluto, porque o veículo inclinou-se perigosamente para a esquerda. Mas quando ela soltou o freio, isso também pareceu um erro, porque inclinou-se ainda mais para a direita. O carro de polícia engatado atrás dela bateu no pára-choque, e o trailer estremeceu, balançou ainda mais de um lado para o outro, e Chyna percebeu que iam capotar.
Meio embriagado com o cheiro deliciosamente complexo de seu próprio sangue e do odor de puro sexo dos tiros da escopeta, o xerife Vess larga a arma no chão assim que fica vazia. Com os olhos faiscando de júbilo, ele observa o velho trailer erguer de maneira inevitável os pneus da direita-, inclinando-se sobre os aros das rodas à esquerda. A borracha dos pneus*espalha-se pelas duas pistas. Os aros abrem sulcos no asfalto, com um rangido que o faz lembrar do cheiro de sangue seco em crinolina, e isso o lembra do gosto da boca de uma certa jovem no instante exato de sua morte. E depois o veículo cai de lado no chão, tão pesadamente que Vess sente as vibrações do asfalto sob seus pés. O barulho ressoa entre as árvores na beira da estrada, como os estampidos da arma do próprio demônio.
Pendurado na traseira do trailer, o carro de polícia preto e branco é arrastado pelo veículo maior. Finalmente se desprende, choca-se contra o teto do trailer, dá um giro de trezentos e sessenta graus e vai parar na faixa de rolamento para o norte.
O trailer continua a deslizar, a uns cem metros do xerife, mas já não mais tão depressa, prestes a parar.
A situação é crítica: a confusão ao longo da estrada, que ele será pressionado a explicar; a destruição de seu plano de lidar com Ariel da maneira metódica que o vem mantendo excitado há um ano e os cadáveres incriminadores no quarto do trailer.
« Mas o xerife Vess nunca se sentiu tão excitado quanto agora. Ele está muito vivo, todos os seus sentidos aguçados pela ferocidade do momento. Sente-se inebriado. Tem vontade de pular sob a lua, girar com os braços estendidos, como uma criança que tenta ficar tonta com a visão das estrelas rodando.
Mas há duas mortes a serem providenciadas, um rosto jovem e adorável a ser desfigurado, o que também é divertido.
Ele estende a mão para o coldre do revólver. Com certeza caiu quando ele saltou do carro e rolou pela estrada. Vess olha em volta
Quando o trailer parou, Chyna não perdeu tempo admirando-se por continuar viva. No mesmo instante soltou seu cinto de segurança e o da garota.
O lado direito do trailer capotado tornara-se o teto naquela nova posição. Ariel segurava-se na maçaneta da porta, para não cair em cima de Chyna. O lado esquerdo, onde Chyna se encontrava, era agora o chão. Da janela do lado do motorista só se via o asfalto.
Ela esforçou-se para sair do banco, e virou-se, apoiada no painel, de costas para o pára-brisa, com os pés no consolo. Encostou o lado direito no volante.
O ar estava impregnado de vapores de gasolina. Era difícil respirar. Chyna estendeu a mão para Ariel.
— Vamos sair pelo pára-brisa, meu bem. Depressa.
Como a garota não olhasse para ela e continuasse agarrada na porta olhando para o céu noturno, Chyna pegou-a pelo ombro e puxou-a.
— Vamos, meu bem, vamos logo. Seria uma estupidez se morrêssemos agora, depois de chegarmos até aqui. Se você morresse agora, as bonecas não ririam? Isso mesmo, não cairiam na gargalhada?
E aí vem o xerife Edgler Vess, machucado e sangrando, mas com passos rápidos. Contorna o teto do trailer que é agora o lado esquerdo do veículo capotado, naquele mar de asfalto e gasolina derramada. Olha curioso para a clarabóia quebrada, mas continua seguindo, sem hesitação, para a frente do veículo — onde descobre Chyna e Ariel, meninas levadas, saindo pela abertura do pára-brisa.
Estão de costas para ele e começam a se afastar, seguindo para o lado oeste da estrada, onde há um bosque de pinheiros, não muito longe do acostamento, com certeza na esperança de se esconderem antes que ele as encontre. A mulher cambaleia, exortando a garota a andar, a mão em sua cintura.
O xerife não conseguiu encontrar seu revólver, mas segura a escopeta com as duas mãos, pelo cano. Vai atrás delas. A mulher ouve o ruído da bota sem salto na estrada encharcada, mas não tem a menor chance de se virar para enfrentá-lo. Vess usa a escopeta como se fosse um porrete, empregando toda a sua força, batendo com o lado da arma nas costas da mulher.
Ela cai, o ar é todo expelido de seus pulmões — incapaz de gritar. Tomba para a frente, o rosto virado para baixo, talvez inconsciente, mas certamente imobilizada de tão atordoada.
Ariel continua a andar na direção em que seguia, como se nada soubesse do que acaba de acontecer com Chyna; e talvez não saiba mesmo. Talvez esteja desesperada por liberdade, mas é mais provável que caminhe pela estrada tão sem consciência quanto uma boneca de corda.
A mulher rola de costas, fitando-o, não atordoada, mas branca e os olhos desvairados de raiva.
— Deus tem medo de mim — ele diz, palavras que podem ser formadas com as letras de seu nome.
Mas a mulher não se mostra impressionada. Espirrando, por causa dos vapores ou talvez do golpe nas costas, ela diz:
— Vá se foder.
Quando a matar, ele terá de comer um pedaço dela, como comeu a aranha, porque nos dias difíceis que terá pela frente pode precisar de um pouco da extraordinária força daquela mulher.
Ariel está a uns vinte metros de distância, e o xerife pensa em ir buscá-la. Decide terminar com a mulher primeiro, porque a garota não pode ir longe no estado em que está.
Quando Vess torna a olhar para baixo, a mulher está tirando um pequeno objeto do bolso do jeans.
Chyna estendeu o isqueiro a gás que carregava desde o posto de gasolina onde Vess assassinara os dois empregados. Apertou a alavanca do gás e passou o polegar pelo acendedor. Tinha pavor de acendê-lo. Estava em meio a gasolina, com as roupas e os cabelos encharcados. Mal conseguia respirar em meio aos vapores sufocantes. Até a mão trêmula estava molhada de gasolina. Calculou que a chama saltaria no mesmo instante para o polegar, subiria pela mão e o braço, envolvendo todo o seu corpo em poucos segundos.
Mas tinha de confiar que havia justiça no universo e significado na neblina entre as sequóias, pois sem essa confiança não seria melhor do que Edgler Vess, não seria melhor do que um desnorteado besouro de palmito.
Continuava estendida no chão, aos pés de Vess. Mesmo que o pior acontecesse, haveria de levá-lo junto
— Eternamente — murmurou ela, pois essa era outra palavra que se podia escrever com as letras do nome de Vess, enquanto acendia o isqueiro.
A chama saltou do Bic, mas não subiu por seu polegar no mesmo instante. Por isso, ela estendeu o isqueiro para a bota de Vess e largou-o. A chama apagou-se no mesmo instante, mas não antes de atear fogo no couro encharcado de gasolina.
Enquanto largava o isqueiro, Chyna já se jogava para longe de Vess, os braços encolhidos contra o peito, girando sobre o asfalto, chocada pela rapidez com que o fogo explodiu alto na noite por trás dela, com um zunido e uma súbita onda de calor. Chamas azuis, de uma beleza etérea, deviam avançar em sua direção pelo asfalto saturado. Ela se preparou para o momento arrebatado da morte pelo fogo — mas logo saía de cima da gasolina, rolando pela parte seca da estrada.
Ofegante, quase sem conseguir respirar, Chyna levantou-se, afastando-se ainda mais do fogo e da besta em chamas.
Edgler Vess calçava botas de fogo, gritando e batendo com os pés, enquanto lençóis de chamas se elevavam do asfalto ao seu redor.
Chyna viu os cabelos dele pegarem fogo, e desviou os olhos.
Ariel estava longe do asfalto encharcado de gasolina e fora de perigo, e parecia alheia ao fogo. Parará de costas para as chamas, olhando para as estrelas.
Chyna seguiu apressada ao seu encontro, levou-a por mais seis ou sete metros da estrada para o sul, por precaução.
Os gritos de Vess eram estridentes e terríveis, mais altos agora porque, como Chyna descobriu ao se virar para olhar, o louco vinha atrás delas, uma coluna de fogo. Ele estava de pé, caminhando pesadamente pelo asfalto borbulhante. Nos braços brilhantes estendidos à frente, línguas de fogo branco-azuladas projetavam-se das pontas de seus dedos. Um tornado de fogo vermelho como sangue turbilhonava em sua boca aberta, chamas de dragão saíam das narinas, o rosto desaparecera por trás de uma máscara laranja, mas mesmo assim ele avançava, gritando, obstinado como um pôr-do-sol.
Chyna colocou-se na frente da garota, mas depois Vess abruptamente desviou-se delas, e era evidente que não as vira. Estava cego, não perseguia nem Chyna nem Ariel, mas buscava uma misericórdia imerecida.
No meio da estrada, ele caiu sobre as linhas amarelas e ali ficou, o corpo se sacudindo, estrebuchando, pouco a pouco virando de lado, erguendo os joelhos para o peito, dobrando as mãos enegrecidas sob o queixo. A cabeça baixou para as mãos, como se o pescoço estivesse se derretendo e se tornasse incapaz de sustentá-la. Em pouco tempo fez-se silêncio entre as chamas.
Por um lado, Vess sabia que o grito evanescente era seu, mas o sofrimento era tão intenso que pensamentos bizarros afloraram em sua mente, numa explosão de delírio. Por outro, acreditou que aquele grito fantástico não era seu, afinal de contas, mas sim saído do gêmeo não nascido do funcionário do posto de gasolina, que deixara sua imagem como uma marca de nascença rosada na testa do irmão. Por fim, Vess teve muito medo na estranheza do fogo que o consumia, e depois não era mais um homem, mas apenas uma escuridão duradoura.
Sempre puxando Ariel, Chyna afastou-se do fogo, mas por fim não conseguia continuar de pé por mais um instante sequer. Sentou-se na estrada, tremendo de maneira incontrolável, sacudida pela dor, nauseada de alívio. Começou a chorar, a soluçar como uma criança, como uma menina de oito anos, soltando todas as lágrimas nunca antes gastas por baixo de camas, em paióis infestados de camundongos ou em praias iluminadas por raios.
Depois de algum tempo, faróis apareceram a distância. Chyna ficou observando enquanto se aproximavam. Ariel, a seu lado, continuava a examinar a lua em silêncio.
Em seu leito no hospital, Chyna deu um depoimento detalhado à polícia, mas não disse nada aos repórteres, que tanto se empenhavam em lhe arrancar declarações. Pelos policiais, num espírito de reciprocidade, ela soube de muitas coisas sobre Edgler Foreman Vess e a extensão de seus crimes, embora nada disso explicasse o comportamento dele.
Duas coisas a interessavam pessoalmente.
Primeiro, Paul Templeton, o pai de Laura, estivera no Oregon numa viagem de negócios, semanas antes do ataque de Vess à sua família. Fora detido por excesso de velocidade. O policial que preencheu a multa era o jovem xerife. Devia ter sido nessa ocasião que as fotografias caíram da carteira de Paul, quando ele tirava a carteira de motorista, proporcionando a Vess a oportunidade de contemplar o estonteante rosto de Laura.
Segundo, o nome completo de Ariel era Ariel Beth Delane. Até um ano atrás, ela vivia com os pais e o irmão de nove anos num subúrbio tranqüilo de Sacramento, Califórnia. A mãe e o pai haviam sido mortos a tiros na cama. O garoto fora torturado até a morte com as ferramentas que Mrs. Delane usava em seu hobby de fazer bonecas. Havia motivos para acreditar que Ariel fora obrigada a assistir a tudo, antes que Vess a levasse.
Além dos policiais, Chyna foi atendida por vários médicos. Recebeu o tratamento necessário para as diversas lesões físicas, e foi encorajada em várias ocasiões a relatar suas experiências a psiquiatras. O mais persistente foi o dr. Kevin Lofglun, um homem de cinqüenta anos com aparência de menino e uma risada musical, além do hábito nervoso de puxar o lóbulo da orelha direita até deixá-lo vermelho.
— Não preciso de terapia — declarou ela — porque a vida- é terapia.
Ele não entendeu. Queria que Chyna falasse sobre seu relacionamento dependente da mãe, embora já não fosse dependente há dez anos, desde que ela saíra de casa. Dr. Lofglun queria ajudá-la a aprender a lidar com o pesar, mas Chyna disse:
— Não quero aprender a lidar com isso, doutor, quero apenas sentir.
Quando ele falou da síndrome de estresse pós-traumático, ela falou de esperança; quando ele falou de auto-realização, ela falou de responsabilidade; quando ele falou de mecanismos para melhorar a auto-estima, ela falou de fé e confiança; e depois de algum tempo, o psiquiatra pareceu chegar à conclusão de que nada podia fazer por alguém que falava uma linguagem tão diferente da sua.
Os médicos e enfermeiras achavam que ela não conseguiria dormir, mas Chyna dormia profundamente. Estavam convencidos de que ela teria pesadelos, mas Chyna sonhava apenas com uma catedral de árvores onde nunca ficava sozinha e sempre se sentia segura.
No dia 11 de abril, apenas doze dias depois de ser internada no hospital, ela recebeu alta. Ao sair pela porta da frente, havia mais de uma centena de repórteres de jornais e emissoras de rádio e televisão à sua espera, inclusive dos tablóides sensacionalistas que haviam lhe enviado contratos, pelo Federal Express, oferecendo grandes quantias para que contasse sua história. Ela passou pelos jornalistas sem responder a nenhuma das perguntas gritadas, mas também sem se mostrar grosseira. Ao chegar ao táxi que a esperava, um repórter estendeu um microfone diante de seu rosto e perguntou, futilmente:
— Ms. Shepherd, qual a sensação de ser uma heroína tão famosa? Ela parou, virou-se e disse:
— Não sou uma heroína. Estou apenas de passagem, como todos vocês, me perguntando por que tudo tem de ser tão difícil e torcendo para nunca mais ter de machucar ninguém.
Os que se achavam perto o bastante para ouvir ficaram em silêncio, mas os outros continuaram a gritar. Ela entrou no táxi e foi embora.
A família Delane tinha a casa hipotecada e era viciada no crédito fácil do Visa e MasterCard, antes de Edgler Vess livrá-los de suas dívidas. Por isso, Ariel não era herdeira de coisa alguma. Os avós paternos ainda eram vivos, mas tinham saúde precária e dispunham apenas de limitados recursos financeiros.
Mesmo que houvesse parentes com uma situação financeira relativamente confortável para assumir o fardo de criar uma adolescente com os problemas singulares de Ariel, não se sentiriam adequados para a tarefa. A garota ficou sob a tutela do tribunal, internada num hospital psiquiátrico mantido pelo Estado da Califórnia.
Nenhum parente fez objeções.
Ao longo daquele verão e outono, Chyna viajou todas as semanas de San Francisco para Sacramento, pedindo ao tribunal para ser declarada a única guardiã legal de Ariel Beth Delane. Visitava a moça e lidava pacientemente — alguns diziam que com obstinação — com os bizantinos sistemas judiciário e de assistência social. Sem isso, condenariam a moça a uma vida em manicômios, os chamados 'centros de reabilitação'.
Embora Chyna não se considerasse uma heroína, era assim que muitos outros a viam. A admiração de certas pessoas influentes foi a chave que acabou destrancando o coração da burocracia e lhe proporcionou a custódia permanente que tanto desejava. Numa manhã ao final de janeiro, dez meses depois de libertar a moça da cela cheia de bonecas no porão, Chyna deixou Sacramento com Ariel ao seu lado.
Foram para casa, o apartamento em San Francisco.
Chyna nunca terminou o mestrado em psicologia, que estava bem perto de obter. Continuou a estudar na Universidade da Califórnia em San Francisco, mas mudou o curso para literatura. Sempre gostara de ler, e embora não pensasse que possuía algum talento para escrever, achava que um dia seria agradável se tornar uma editora de livros, trabalhando com escritores. Havia mais verdade na ficção do que na ciência. Também podia se imaginar como professora. E se passasse o resto da vida servindo mesas, não teria problemas, porque era boa nisso e via dignidade em todos os trabalhos.
No verão seguinte, quando trabalhava no turno da noite, Chyna e Ariel começaram a passar muitas manhãs e inícios de tarde na praia.
A garota gostava de contemplar a baía por trás de óculos escuros, e às vezes podia ser induzida a ficar à beira d'água, com as ondas se desmanchando ao redor dos tornozelos.
Um dia, em junho, sem pensar no que fazia, Chyna escreveu, com o dedo indicador, uma palavra na areia: peace. Olhou fixamente por um minuto inteiro e depois, surpresa, comentou com Ariel:
— Paz. Essa é uma palavra que pode ser escrita com as letras do meu nome.
No dia 1º. de julho, enquanto Ariel sentava-se na toalha, olhando para o mar que o sol enchia de lantejoulas, Chyna tentava ler um jornal, mas todas as notícias a afligiam. Guerra, estupro, assassinato, assalto, políticos irradiando ódio de todos os lados do espectro político. Leu uma crítica de cinema com comentários insidiosos sobre o diretor e o roteirista, questionando o direito deles de criar. Passou em seguida para uma colunista que fazia um ataque igualmente rancoroso a um romancista. Não eram críticas genuínas, mas puro veneno, e ela jogou o jornal numa lata de lixo. Aqueles pequenos ódios e agressões indiretas pareciam-lhe reflexos desagradáveis e óbvios de impulsos homicidas mais fortes que infeccionavam o espírito humano; os assassinatos simbólicos eram diferentes apenas no grau e não na espécie, do homicídio de fato, e a doença nos corações de todos era igual.
Não há explicações para o mal humano. Apenas desculpas.
Também no início de julho ela notou um homem em torno dos trinta anos que ia à praia algumas manhãs por semana com o filho de oito anos e um computador laptop, no qual trabalhava na sombra do guarda-sol. Acabaram tornando-se amigos. O nome do pai era Ned Barnes, e o filho se chamava Jamie. Ned era viúvo e, entre outras coisas, escritor, com vários romances de relativo sucesso. Jamie gostou de Ariel e levava-lhe coisas que considerava especiais — um ramo de flores silvestres, uma concha interessante, um retrato de um cachorro de aparência cômica tirado de uma revista — colocando-as na toalha a seu lado, sem perguntar o que ela achava.
No dia 12 de agosto Chyna fez um jantar de espaguete e almôndegas para os quatro, em seu apartamento. Mais tarde, ela e Ned jogaram Go Fish e outros jogos com Jamie, enquanto Ariel ficava sentada, olhando placidamente para as mãos. Desde a noite no trailer não se manifestavam a. terrível expressão angustiada e o grito silencioso. Ela também parará de se encolher e balançar ansiosamente o corpo para a frente e para trás.
Ao final de agosto, os quatro foram juntos ao cinema. Continuaram a se encontrar na praia, onde sempre ficavam juntos. O relacionamento era descontraído, sem nenhuma pressão, sem expectativas. Queriam apenas sentirem-se menos sós.
Em setembro, logo depois do feriado do Dia do Trabalho, quando já não havia mais tantos dias quentes para se ir à praia, Ned levantou os olhos de seu laptop e chamou:
— Chyna...
Ela lia um romance e apenas murmurou "Hum" sem desviar os olhos da página. Ned insistiu:
— Vamos, Chyna. Dê uma olhada em Ariel.
A moça usava um jeans cortado e uma blusa de mangas compridas, porque já estava um pouco frio para entrar no mar. Estava descalça, à beira d'água, as ondas se desmanchando em volta dos tornozelos... mas não se mantinha imóvel como um zumbi, olhando para a baía, como de hábito. Em vez disso, tinha os braços estendidos por cima da cabeça e balançava as mãos no ar, dançando no mesmo lugar.
— Ela adora a baía — murmurou Ned.
Chyna não conseguia falar.
—Ela ama a vida — acrescentou ele. Engasgada de emoção, Chyna rezou para que fosse verdade.
A garota não dançou por muito tempo, e mais tarde, quando voltou a se sentar, seu olhar estava distante como sempre.
Em dezembro daquele ano, mais de vinte meses depois de fugir da casa de Edgler Vess, Ariel completou dezoito anos; não mais uma menina, mas uma bonita jovem. No entanto, com freqüência ela chamava pelo pai e a mãe no sono, também pelo irmão, e sua voz — na única vez em que se pôde ouvi-la — era, infantil, frágil e perdida.
Na manhã de Natal, entre os presentes que estavam debaixo da árvore para Ariel, Ned e Jamie, na sala de estar do apartamento, Chyna ficou surpresa ao encontrar um pequeno pacote para ela própria. Fora embrulhado com muito cuidado, típico de uma criança, com mais entusiasmo do que habilidade. Seu nome fora escrito em letras de fôrma irregulares na etiqueta de presente que tinha o desenho de um boneco de neve. Ela abriu a caixa e deparou com um papel azul lá dentro. Havia três palavras escritas no papel, com um esforço considerável, muita hesitação, incontáveis paradas e recomeços: Eu quero viver.
Com o coração batendo forte, com dificuldades para falar, ela segurou as mãos de Ariel. Por algum tempo, não soube o que dizer... e não conseguiria dizer nada, mesmo que soubesse. Por fim, as palavras saíram, hesitantes:
— Isso... esse é melhor presente que já ganhei, querida. A melhor coisa que já me aconteceu. E tudo o que eu quero... que você tente.
Ela leu as três palavras de novo, em meio às lágrimas.
Eu quero viver.
— Mas não sabe como voltar, não é? — murmurou Chyna.
Ariel ficou completamente imóvel. Depois piscou, apertou as mãos de Chyna.
— Há um caminho — garantiu Chyna.
As mãos de Ariel apertaram as dela ainda mais.
— Há esperança, meu bem. Há sempre esperança. Há um caminho, e ninguém consegue descobri-lo sozinho. Mas nós podemos procurá-lo juntas. Podemos encontrá-lo juntas. Você só precisa acreditar.
A moça não conseguia olhar para Chyna, mas continuou a apertar as mãos dela.
— Quero lhe contar uma história sobre um bosque de sequóias e uma coisa que vi ali numa noite, e que também vi mais tarde, quando precisava ver. Talvez não signifique tanto para você, talvez não signifique nada para as outras pessoas, mas representa o mundo para mim, mesmo que eu não consiga entender direito.
Eu quero viver.
Ao longo dos anos seguintes, a estrada de volta da Floresta Encantada para as belezas e maravilhas deste mundo não foi fácil para Ariel. Houve momentos de desespero, quando parecia não haver progresso algum, ou ela dava a real impressão de retroceder.
Até que chegou o dia em que as duas foram com Ned e Jamie para o bosque de sequóias.
Caminharam entre samambaias e rododentros à sombra solene das enormes árvores, e Ariel pediu:
— Mostre onde foi.
Chyna levou-a pela mão até o ponto exato e disse:
— Aqui.
Naquela noite, Chyna estava apavorada, arriscando tudo por uma garota que nunca vira. Apavorada não tanto por causa de Vess, mas por aquela coisa nova que descobrira em seu coração. Aquele amor que não media conseqüências. E agora ela sabe que não é nada que deva temer. E o propósito para o qual todos nós existimos. Esse amor sem limites.
Dean R. Koontz
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















