



Biblio VT




Muitos leitores conhecem o duque de Wellington quando ele se chamava Arthur Wellesley. Acontece que, antes disso, o seu nome de família era Wesley. A mudança ocorreu quando o irmão mais velho herdou o título da família, tendo sido escolhida para Arthur a forma mais comum: Wellesley. Ele só começou a usar o novo apelido após ter chegado à Índia.
No respeitante às datas, não usei o calendário revolucionário, dado que para a maior parte dos franceses era apenas uma formalidade, tendo eles continuado sempre a fazer uso do calendário convencional.
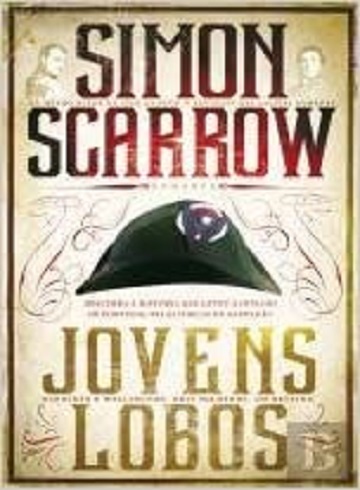
Capítulo 1
Irlanda, 1769
Deitando um derradeiro olhar ao quarto pouco iluminado, a parteira retirou-se, fechando a porta atrás de si. Voltou-se então para a figura que se encontrava no outro lado
do salão. Pobre homem, pensou para os seus botões, enquanto inconscientemente secava as mãos grossas no avental. Não havia nenhuma maneira fácil de lhe dar a má notícia. A
criança não passaria daquela noite. Isso era claro para ela, experiente como era por ter trazido ao mundo mais bebés do que a sua memória pudera guardar. Este nascera mais
de um mês antes do tempo. Vislumbrara nele apenas uma ténue centelha de vida quando a senhora o tinha finalmente expulsado do útero, com um estridente grito de dor, pouco
depois da meia-noite. Não passava de uma coisinha fraca e trémula, mesmo depois de a parteira o ter limpado, de lhe ter cortado o cordão umbilical e de o ter entregado à mãe,
bem embrulhado num limpíssimo cobertor de bebé. A senhora tinha-o estreitado contra o peito, visivelmente aliviada por o trabalho de parto ter terminado.
Fora assim que a parteira a deixara. Deixá-la ter umas horas de reconforto antes de a natureza seguir o seu curso, transformando o milagre do nascimento em tragédia.
Com as bainhas das saias roçando pelo chão, apressou o passo em direcção ao homem e fez uma vénia rápida, ao apresentar o seu relatório.
- Tenho muita pena, meu senhor.
- Pena? - Ele dirigiu o olhar para além dela, na direcção da porta fechada. - Que aconteceu? A Anne está bem?
- Sim, senhor, ela está bem, está benzinho.
- E a criança? Já nasceu?
A parteira acenou com a cabeça.
- Um rapaz, meu senhor.
Por um instante, Garrett Wesley sorriu de alívio e orgulho, até se ter lembrado das primeiras palavras da parteira.
- Então, qual é o problema?
- Com a senhora não há problemas, mas o menino é fraquinho. O senhor perdoe-me que lhe diga, mas eu acho que ele não resiste até à madrugada, e se resistir, então será uma
questão de dias até que Nosso Senhor o leve. Tenho tanta pena, meu senhor.
Garrett abanou a cabeça:
- Como é que pode estar tão certa disso?
A parteira respirou fundo para controlar a ira que lhe provocava ver a sua reputação profissional posta em causa.
- Eu conheço bem os sinais. Ele não está a respirar como deve ser e tem a pele fria e húmida. O pobrezinho não tem forças para viver.
- Deve haver alguma coisa que se possa fazer por ele. Chame um médico.
A parteira abanou a cabeça.
- Não há nenhum na aldeia, nem nos arredores.
Garrett olhava para ela, enquanto fervilhava de pensamentos. Só em Dublin ele encontraria os cuidados médicos de que o filho necessitava. Se partissem já, poderiam chegar
à residência em Merrion Street antes do anoitecer, onde mandariam chamar o melhor médico de imediato. Garrett anuiu de si para si. A decisão estava tomada. Agarrou a parteira
pelo braço.
- Vá aos estábulos, e diga ao meu cocheiro para arrear os cavalos e estar pronto para viajar, logo que seja possível.
- Vão viajar? - Ela fitava-o de olhos bem abertos. - Não pode ser verdade, meu senhor. A senhora está ainda muito fraca e precisa de descansar.
- Ela pode descansar na carruagem, a caminho de Dublin.
- Dublin? Mas, meu senhor, isso é...
A parteira franziu a testa, ao tentar imaginar uma distância maior do que a que ela alguma vez percorrera na vida.
- Isso é uma viagem grande de mais para a vossa senhora, no estado em que ela está, meu senhor. Ela precisa é de descansar, de estar descansadinha.
- Ela vai ficar bem, é o rapaz que me preocupa. Precisa de um médico. Não há mais nada que possa fazer por ele. Agora vá dizer ao cocheiro para preparar a carruagem.
Ela não respondeu, limitando-se a encolher os ombros. Se o jovem senhor queria pôr em risco a vida da sua mulher por causa de um recém-nascido que morreria em breve, ele lá
saberia. E teria de viver com as consequências da sua decisão.
A parteira fez uma vénia e correu para as escadas, que desceu, fazendo ouvir o som das suas botas nos degraus. Garrett deitou um último olhar de desdém na sua direcção, antes
de se voltar e atravessar apressadamente o salão até ao quarto onde estava a mulher. Parou por um instante junto à porta, pois estava preocupado com o estado dela durante
a difícil viagem que tinham pela frente. Ainda se interrogava se seria o procedimento correcto. Talvez aquela parteira afinal tivesse razão e o rapaz morresse antes que pudessem
encontrar um médico que o conseguisse salvar. Assim sendo, Anne sofreria os desconfortáveis solavancos da carruagem naquela
esburacada estrada para Dublin, sem proveito nenhum. Pior ainda, a saúde dela poderia ser também posta em causa. Uma morte certa, caso ficassem. Duas mortes possíveis, caso
fossem. Uma certeza contra uma possibilidade. Colocada assim a questão, Garrett decidiu arriscar. Agarrou no puxador e rodou-o para baixo, empurrando a porta.
O melhor quarto da estalagem estava atulhado com uma arca, um lavatório e uma cama enorme, por cima da qual se encontrava uma cruz de madeira, pendurada na parede cheia de
marcas de humidade. Num dos lados da cama havia uma mesa e em cima dela um castiçal com três velas semiardidas, cujas chamas tremelicavam com a corrente de ar vinda da porta.
Anne moveu-se sob os cobertores, abrindo os olhos.
- Meu querido - murmurou -, temos um filho. Olha.
Apoiando um braço no travesseiro, elevou-se um pouco, movendo a
cabeça carinhosamente na direcção do volume que o outro braço enlaçava.
- Eu sei - Garrett forçou um sorriso. - A parteira disse-me.
Dirigiu-se à cama e ajoelhou-se ao lado da mulher, tomando a mão
livre dela entre as suas.
- Para onde foi ela?
- Foi mandar preparar a nossa carruagem.
- Preparar a carruagem?
Anne dirigiu o olhar para as portadas da janela, sem discernir qualquer sinal de luz à volta delas.
- Ainda é noite. E, além disso, meu querido, estou cansada. Tão cansada. Tenho de descansar. Certamente que podemos passar aqui um dia?
- Não. A criança precisa de um médico.
- Um médico?
Anne parecia confusa. Retirou a mão do meio das do marido e com muito cuidado afastou uma das pontas do pano de linho que envolvia o bebé. Sob o doce luzir das velas, Garrett
viu as feições inchadas do menino, de olhos fechados e lábios imóveis. O único sinal de vida provinha do subir e descer ritmado das pequenas narinas. Anne passou um dedo pela
testa enrugada.
- Um médico, porquê?
- É fraco e precisa de cuidados especiais, o mais depressa possível. Mas só em Dublin os poderemos arranjar.
Anne franziu o sobrolho.
- Mas isso fica a um dia de viagem daqui, no mínimo.
- Por isso dei ordens para prepararem a carruagem. Temos de partir imediatamente.
- Mas, Garrett...
- Sshhiu! - Gentilmente, pressionou um dedo contra os lábios dela.
- Não te deves apoquentar. Descansa, minha querida. Poupa as forças.
Ele pôs-se de pé. Através das portadas da janela, chegavam sons de movimentações no pátio das cavalariças: um dos moços praguejava e as dobradiças ferrugentas dos portões
chiavam. Garrett virou a cabeça na direcção da janela.
- Tenho de ir. Eles precisam de uma voz forte para nos porem na estrada a tempo e horas.
No pátio empedrado da estalagem tinham acendido duas lanternas, que pendiam de grampos do lado de fora das cavalariças. As portas estavam abertas de par em par e, lá dentro,
havia figuras esbatidas nas sombras a arrear os cavalos.
- Vamos a despachar! - Ia gritando Garrett ao atravessar o pátio.
- Temos de partir já!
- Mas ainda é de noite, meu senhor.
Um homem surgiu a vestir a casaca, vindo do alojamento dos criados. Garrett ignorou o protesto do seu cocheiro com um rápido aceno de mão.
- Partimos logo que a minha mulher esteja vestida e pronta para a viagem, O'Shea. Vê se carregam a nossa bagagem. E agora traz os cavalos cá para fora e atrela-os à carruagem.
- Sim, meu senhor. Às vossas ordens.
O cocheiro fez uma vénia e entrou no estábulo.
- Vamos lá, rapazes! Mexam-se, preguiçosos!
Garrett levantou os olhos para a janela do quarto da mulher e sentiu um frémito de culpa por não se encontrar ao lado dela. Tornou a olhar para o estábulo e franziu o sobrolho.
- Vamos embora, homens! Despachem-se!
Capítulo 2
Na derradeira hora antes do amanhecer, a carruagem ressoou ao abandonar o pátio da estalagem. Ao curvar para a mal empedrada rua da aldeia, as rodas de ferro produziram um
barulho metálico que quebrou o silêncio da noite. O negro amontoado de casas, de ambos os lados da rua, foi sendo momentaneamente iluminado pelas duas lanternas da carruagem.
Lá dentro havia uma única luz, fixada no tabique por detrás do condutor. Garrett estava sentado com um braço em volta da mulher, contemplando a imobilidade do filho ao colo
dela. A parteira tinha razão. O bebé parecia fraco e flácido. Anne deitou um olhar ao marido, entendendo correctamente a sua expressão preocupada.
- A parteira contou-me tudo antes de sairmos. Sei que há muito poucas hipóteses de ele sobreviver. Temos de ter fé em Deus.
- Sim, é verdade - assentiu Garrett.
A carruagem deixou a aldeia, e o batimento das rodas nas pedras foi substituído pelo som mais surdo e suave da estrada de terra batida, que atravessava o campo, na direcção
de Dublin. Garrett afastou uma das cortinas da portinhola da carruagem e abriu a janela.
- O'Shea!
- Sim, meu senhor?
- Porque é que não vamos mais depressa?
- Está escuro, meu senhor. Eu mal consigo ver o caminho. Se formos mais depressa, podemos sair da estrada ou tombar a carruagem. Já não falta muito para ser dia. Ganharemos
tempo logo que haja luz.
- Está bem.
Garrett franziu a testa, fechou a janela e recostou-se no assento almofadado. A mulher pegou-lhe na mão e apertou-a com carinho:
- Meu querido, o O'Shea é um bom homem e sabe que temos pressa.
- Sim, é verdade. - Garrett voltou-se para ela. - E tu, como te estás a sentir?
- Cá vou indo. Nunca me senti tão cansada.
Garrett fixou-a, apertando os lábios:
- Devia ter-te deixado na estalagem a repousar.
- O quê? E levavas tu sozinho o nosso filho para Dublin?
Ele encolheu os ombros e Anne esboçou uma gargalhada.
- Meu querido, por muito que eu ache que és um óptimo marido, há coisas que só uma mãe pode fazer. Eu tenho de ficar junto do meu menino.
- Ele já mamou?
Anne confirmou com a cabeça.
- Um bocadinho. Mesmo antes de sairmos da estalagem. Mas não foi o suficiente. Acho que ele não tem força para mamar.
Pôs o dedo mindinho nos lábios do bebé, testando cuidadosamente se conseguia provocar qualquer reacção. Mas a criança franziu o nariz e afastou a cara.
- Parece que ele não tem vontade de viver.
- Pobre rapaz - murmurou Garrett. - Pobre Henry!
Sentiu a mulher a sobressaltar-se quando ouviu o nome.
- Que se passa?
- Não lhe chames isso.
Ela virou-se para a janela.
- Mas é o nome que tínhamos escolhido.
- Sim, é verdade. Mas ele é capaz de não... viver. Guardarei esse nome para um filho que seja forte. Se ele morrer, nunca mais porei o nome a outro filho. Não conseguiria
fazê-lo.
- Compreendo - Garrett acariciou-lhe o ombro. - Só que nenhuma criança cristã deve morrer sem ter nome.
- Claro que não...
Anne olhou para aquela carinha, tão pequenina, e sentiu-se impotente, sabendo que poucas horas poderiam separar o presente do momento em que o bebé passaria para o outro mundo,
quase não tendo passado por este. A dor da perda seria desproporcional ao tempo de vida da criança. Dar um nome ao pobrezinho só pioraria as coisas; por isso, ela evitava
a todo o custo cumprir esse dever.
- Anne...- Garrett estava ainda a olhar para ela. - Ele precisa de um nome.
- Mais tarde. Temos tempo.
- E se não tivermos?
- Temos de ter fé em Deus de que teremos tempo.
Garrett abanou a cabeça. Era típico dela. Detestava que a vida a confrontasse com dificuldades de qualquer ordem. Garrett suspirou profundamente.
- Quero que ele tenha um nome. Não será Henry, pronto - concedeu. - Mas temos de escolher um nome agora, enquanto ele está vivo.
Anne contraiu-se e olhou para a janela, mas tudo o que conseguiu ver foi as imagens distorcidas de si própria, do marido e da criança, reflectidas no vidro.
- Anne...
- Está bem - respondeu irritada. - Dado que tanto insistes, vamos dar-lhe um nome. Que não lhe vai servir para nada. Que nome lhe damos, então?
Garrett contemplou o menino, por breves instantes. Estava maravilhado com a profundidade de sentimentos que ele lhe inspirava e temeroso de que o veredicto da parteira se
viesse a confirmar. E a Anne, que o carregara na barriga durante tantos meses, que o sentira começar a mexer, sabendo que tinha uma nova vida dentro dela; e quando ela lhe
falou da terrível sensação de quietude dentro do seu ventre, que os fez correr em pânico para Dublin, tendo de parar no caminho, porque o parto se precipitou. Quando a criança
nasceu viva, Garrett sentiu o coração encher-se de alívio, alívio esse que desaparecera mal a parteira o informou, com muita pena, de que a criança era demasiado fraca para
sobreviver. Tentou combater a amargura, que lhe enchia agora o coração.
- Garrett? - Anne levantou a cabeça, de modo a olhá-lo nos olhos.
- Ó Garrett, perdoa-me. Que grande ajuda que eu sou!
- Eu... estou bem. É só um momento.
Erguendo-se um pouco, abraçou-a, sentindo a tensão que perpassava o corpo dela, mesmo com todos os solavancos da carruagem. Cá fora, o primeiro pálido raio da aurora tingia
de cinzento o recorte dos montes a leste, e o cocheiro fazia estalar o chicote acima da cabeça dos cavalos, de modo a acelerar o andamento.
Anne fez um esforço para se concentrar. Era preciso um nome... e depressa:
- Arthur.
Garrett sorriu para ela e olhou para o filho:
- Arthur - repetiu. - Arthur, como o rei. O pequeno Arthur.
Fez uma festa na sedosa testa do menino:
- Um grande nome. Um dia serás tão galante e corajoso como o teu homónimo.
- Sim, é isso mesmo - disse Anne, já tranquila. - É exactamente o que eu ia dizer.
A aurora cinzenta e molhada estendeu-se sobre os campos irlandeses, transformando a estrada esburacada num lamaçal, que prendia as rodas da carruagem, fazendo-as levantar
água das poças. Ao meio-dia, fizeram uma breve paragem numa vilória, onde comeram alguma coisa e descansaram os cavalos. Anne permaneceu na carruagem com o menino e tentou
novamente amamentá-lo. Como ocorrera antes, os lábios de Arthur procuraram com avidez o mamilo, mas, após umas poucas sucções convulsivas, virou a cara para o lado, engasgando-se,
contorcendo-se e recusando-se a mamar mais.
À medida que a luz do dia se extinguia e a escuridão envolvia de novo a carruagem, a estrada por onde seguiam contornava um monte e, lá ao fundo, Garrett conseguiu distinguir
o brilho de centenas de luzes nas janelas da capital, de que se aproximavam. Mais uma vez, O'Shea teve de reduzir o andamento, por falta de visibilidade. Passaram mais de
duas horas depois do anoitecer, antes de a carruagem entrar na cidade e se dirigir à casa em Merrion Street.
Garrett ajudou a mulher e o filho a descerem e levou-os para dentro, dando ordens para que a lareira fosse acesa de imediato na sala de estar e para que preparassem comida
quente para si e para Anne. Em seguida, enviou os criados à procura de uma ama-de-leite e do doutor Kilkenny, o mais reputado médico da cidade.
O médico foi conduzido à sala de estar, na altura em que Anne e Gar-
rett acabavam de comer a sopa. Garrett ergueu-se de imediato e cumprimentou-o, apertando-lhe a mão enluvada.
- Muito agradecido por ter vindo tão depressa.
- Bem, disseram-me que era urgente.
O hálito do médico cheirava a vinho.
- Então, onde está o meu doente, Wesley? É esta senhora?
- Não, senhor doutor.
Anne fez um gesto na direcção do berço, que se encontrava junto da lareira:
- É o nosso filho, Arthur. Nasceu ontem à noite. A parteira disse que ele era fraco, mal o viu. Disse-nos para contarmos com o pior.
- Ah! - O médico abanou a cabeça. - Parteiras! Que saberá uma mulher de medicina, ainda por cima uma irlandesa? Não devia ser permitido que elas emitissem opiniões sobre coisas
médicas. A ocupação delas é apenas o parto. Bom, que tem então o rapaz?
- Não mama, senhor doutor.
- O quê? Não mama mesmo nada?
- Só umas tantas chupadelas. Depois engasga-se e não quer mais.
- Humm!
O doutor Kilkenny pousou a mala junto do berço, despiu o casaco e entregou-o a Garrett e depois inclinou-se sobre o bebé e afastou os panos que o cobriam. Franziu o nariz
àquele cheiro tão familiar.
- Pelo menos, os intestinos estão a funcionar bem.
- Vou mandar que lhe mudem a fralda.
- Um momento. Primeiro, quero examiná-lo.
Anne e Garrett observaram ansiosos, em silêncio, como o médico se inclinava sobre o filho e lhe examinava de perto o corpinho, à luz oscilante das velas do candelabro. Ouviu-se
um gemido vindo do berço, quando o médico apalpou o estômago da criança, o que perturbou Anne. O doutor Kilkenny olhou para ela, por cima do ombro.
- Esteja descansada, minha cara senhora. Está tudo dentro da normalidade.
Garrett pegou-lhe nas mãos e apertou-as nas suas, enquanto o médico terminava o exame e se endireitava. Depois olhou para ele:
- Então?
- Talvez viva.
- Talvez viva... - sussurrou Anne. - Pensei que nos pudesse ajudar.
- Minha cara senhora, os médicos só conseguem fazer umas tantas coisas para ajudar os doentes, não todas. O vosso menino é fraco. Já vi muitos como ele. Alguns perdem-se em
pouco tempo, outros resistem durante dias, até mesmo semanas, antes de sucumbirem. Alguns sobrevivem.
- Que podemos, então, fazer por ele?
- Mantenham-no quente. Tentem alimentá-lo tanto quanto puderem. Também o podem massajar com um unguento que deixarei convosco. De manhã e à noite. É um estimulante e bem pode
fazer a diferença entre a vida e a morte. É provável que ele chore quando o estiverem a friccionar, mas devem ignorá-lo e prosseguir o tratamento. Entendido?
- Sim, senhor doutor.
- E agora, o meu casaco, por favor. Enviarei a conta pela manhã. Desejo-lhes uma boa noite.
Logo que o médico saiu, Garrett deixou-se cair numa cadeira próxima do berço e deitou um olhar desesperado ao bebé. Os olhinhos de Arthur pestanejaram um pouco, mas o resto
do corpo permaneceu tão imóvel e sem vida como até aí. Garrett manteve-se assim por um bocado, até que esfregou os olhos cansados.
- Devias ir deitar-te - disse Anne em voz baixa. - Estás exausto e precisas de descansar. Tens de ser forte nos dias que aí vêm. Eu vou precisar do teu apoio. E ele também.
- Ele chama-se Arthur.
- Sim, eu sei. Agora vai para a cama. Eu fico aqui com ele.
- Está bem.
Quando Garrett saiu da sala, a mulher inclinou-se sobre o bebé e olhou-o fixamente. Depois passou a mão pela testa, visivelmente apoquentada.
No dia seguinte, Anne continuou a tentar alimentar a criança, mas ele pouco mamou e definhou a olhos vistos. No início, a aplicação do unguento fê-lo berrar, mas, após pouco
tempo, Anne descobriu que ele procurava logo o conforto do seu peito, mal o cobria com aquela pomada, que cheirava ligeiramente a álcool.
Anne e Garrett mantiveram o nascimento em segredo, com o intuito de evitar visitas intermináveis de amigos e parentes preocupados. Nem sequer informaram os seus outros filhos,
que se encontravam em casa, em Dangan, de que tinham mais um irmão.
Foi então que, no quarto dia após o nascimento, uma radiante Anne entrou de rompante no escritório do marido, informando-o de que Arthur já se estava a alimentar normalmente.
Devagar, à medida que ia mamando cada vez mais, foi ganhando peso e cor e começou a mexer-se e a espernear, como é próprio dos bebés. Até que, por fim, houve a certeza de
que viveria. Só nessa altura, no primeiro dia de Maio, mais de três semanas passadas após ter nascido, os seus pais anunciaram nos jornais de Dublin o nascimento de Arthur
Wesley, terceiro filho do conde de Mornington.
Capítulo 3
Córsega, 1769
O arquidiácono Luciano estava mesmo a começar a bênção, quando as águas rebentaram a Letizia. Ela tinha estado em pé, no meio de uma brilhante poça de luz de um Sol em toda
a pujança, cujos raios atravessavam a arcada, por detrás do altar da catedral, em Ajaccio. Era um dia quente de Agosto, e a luz trazia com ela um calor abrasador, que a fizera
sentir-se quente e hirta, por debaixo das camadas de tecido escuro das suas melhores roupas, só usadas para ir à missa. Letizia sentiu a transpiração a acumular-se debaixo
dos braços, o que quase a punha a tremer de frio. Como que em resposta, a criança, dentro da sua barriga muitíssimo inchada, começou a dar pontapés.
Letizia sorriu. Era tão diferente do primeiro filho. Giuseppe tinha estado sempre tão quieto dentro dela, que chegara a temer vir a ter outro nado-morto. Felizmente, ele era
um rapazinho bem saudável. Dócil como um cordeiro. Nada como este que agora carregava no ventre, que mesmo nessa condição, parecia querer lutar para surgir de rompante no
mundo. Talvez fosse por causa da natureza da sua concepção, e da existência que ela e Carlos tinham sido forçados a viver durante esta gravidez. Havia mais de um ano que lutavam
contra os franceses. Longos meses tinham passado escondidos nas montanhas rochosas e vales encobertos da Córsega, a emboscar patrulhas francesas ou a atacar um dos postos
avançados, matando toda a guarnição e depois fugindo para o interior, antes da inevitável chegada da coluna de infantaria que lhes daria caça. Meses passados em cavernas,
na companhia de um bando de rudes camponeses, que Carlos comandava. Patriotas, caçados como animais.
Recordou que fora numa dessas cavernas que a criança tinha sido concebida, numa desagradável noite de Inverno, pouco depois do Natal, quando ela e Carlos estavam deitados
numa cama de caruma de pinheiro, coberta com mantas gastas e sujas. Em redor deles, os seguidores já dormiam, ou fingiam que dormiam, quando o chefe e a jovem mulher, debaixo
dos cobertores, se começaram a movimentar tranquilamente. Ela não tinha sentido vergonha nenhuma, nem certamente a sentiria, enquanto o dia seguinte pudesse trazer a morte
para qualquer um deles, ou para ambos, deixando Giuseppe órfão em casa dos avós.
Tinham lutado contra os invasores durante todo o Inverno e no início da Primavera, e durante esse tempo, Letizia sentira a vida a crescer dentro dela. As primeiras investidas
da rebelião foram um sucesso, e Carlos e os outros patriotas estavam tão certos da vitória, que o general Paoli abandonou
as infindáveis escaramuças da guerrilha e optou por comandar as suas tropas na batalha de Ponte Nuovo. Ali tinham sido esmagadas pelas fileiras ordenadas e ataques maciços
dos soldados profissionais. Centenas de homens mortos, a quem a paixão pela independência da Córsega não providenciara qualquer protecção contra as balas de chumbo, que bombardeavam
as suas fileiras. Um desperdício de homens bons, pensara Letizia. Paoli tinha desbaratado as vidas deles para nada. Após Ponte Nuovo, os patriotas sobreviventes foram forçados
a viver nas montanhas e ali permaneceram, até que Paoli fugiu da ilha, e um general francês triunfante ofereceu uma amnistia aos homens abandonados pelo seu comandante.
Nessa altura, Letizia estava grávida de sete meses, e Carlos, temendo pela saúde dela e farto de viver como um selvágem, aceitou a oferta do inimigo. Na semana seguinte, estavam
de regresso a casa, em Ajaccio. A luta terminara. A Córsega, por tanto tempo pertença de Génova, tivera um arrufo independentista e era agora propriedade da França. A criança
dentro dela nasceria francesa.
Sem aviso, Letizia sentiu uma explosão de fluidos entre as coxas e abriu a boca de espanto, tapando-a logo em seguida com uma mão, num instante de confusão e medo.
Carlos voltou-se para ela, em sobressalto.
- Letizia?
Ela virou-se para trás, com um olhar de espanto.
- Tenho de sair daqui.
Vários rostos próximos voltaram-se para eles, com expressões reprovadoras. Carlos tentou ignorá-los.
- Sair agora?
- A criança - disse ela, entre dentes - está a nascer. Agora!
Carlos anuiu, passou um braço à volta dos ombros estreitos da mulher e, com uma vénia rápida ao grande crucifixo de ouro do altar, conduziu-a pela ala abaixo, em direcção
à porta da catedral. Letizia cerrou os dentes e cambaleou um pouco, ao caminhar para a porta. Cá fora, sob um Sol tórrido, Carlos gritou para os carregadores de uma liteira
próxima deles. De início não se mexeram, até que repararam que a mulher estava cheia de dores. Cuidadosamente, Carlos colocou-a dentro da liteira e deu indicações precisas
quanto à localização da casa. Os carregadores levantaram a liteira do chão e partiram. Carlos acompanhava a corrida, olhando ansiosamente para a mulher, sentada naquela cadeira
estreita, com os dentes cerrados e agarrando-se com toda a força aos caixilhos das janelas. Os carregadores gemiam sob o peso e rapidamente ficaram ofegantes, à medida que
o eco dos seus passos percorria as casas banhadas pelo Sol, que enchiam as ruas estreitas de Ajaccio.
Um grito agudo fez com que Carlos se aproximasse mais e olhasse aterrorizado para as feições fortemente contraídas da mulher.
- Letizia - exclamou, forçando um sorriso, enquanto ela o fitava de lado. - Já não falta muito, meu amor.
Letizia baixou a cabeça e gemeu:
- Está a nascer!
- Mais depressa! - gritou Carlos aos carregadores. - Por amor de Deus! Mais depressa!
A liteira dobrou uma esquina e lá estava, à frente deles, a grande casa, um edifício sóbrio com três andares.
- Ali! - apontou Carlos. - É aquela!
Os carregadores pousaram a liteira com estrondo, provocando mais um grito da passageira e o praguejar contínuo de Carlos, enquanto destrancava a portinhola e retirava a mulher
para fora. Atirou umas tantas moedas aos carregadores, apalpou o bolso do colete à procura da chave, rodou-a na fechadura de ferro e empurrou a porta.
Dentro da casa, o ar estava frio e bafiento. Letizia respirava ofegante e olhava aflita em redor do interior sombrio.
- Aquela cadeira. - Apontou com a cabeça para um velho cadeirão baixo, no canto da sala. - Ajuda-me a sentar.
Mal se encostou ao braço do cadeirão, Letizia agarrou nas bainhas das saias com o intuito de as puxar para cima. Depois parou e olhou para o marido. O apreensivo rosto dele
revelava ansiedade e medo, e ela estava certa de que ele não saberia lidar com o que estava prestes a acontecer. Ele só tinha assistido a um dos partos dela, um nado-morto,
e ficara consumido pela angústia e desespero, quando vislumbrara aquele pálido amontoado de carne ensanguentada e sem vida. Ela teria agora de se arranjar sem ele. Aliás,
sem qualquer outra ajuda: a casa estava vazia; estavam todos na missa.
- Vai chamar o doutor Franzetti. - Letizia apontou-lhe a porta com a cabeça. - Vai lá!
Após uma brevíssima hesitação, Carlos dirigiu-se à porta. Fechou-a atrás de si, e Letizia ouviu as suas botas ecoando rua abaixo, em busca de ajuda. Carlos logo deixou de
lhe ocupar os pensamentos, pois os músculos do estômago endureceram como ferro, envolvendo-a num espartilho de agonia. Respirava ofegante, por entre dentes cerrados, para
depois abrir a boca num grito silencioso, que acompanhava uma dor que parecia durar há um século, até que, por fim, a dor diminuía e afrouxava o aperto. Ela tentava respirar
fundo e sentia uma enorme tensão nas virilhas. Agarrou nas bainhas das saias e puxou-as para cima, juntando as camadas de tecido sobre a pele sedosa da cintura dilatada.
Depois veio uma nova contracção, e Letizia gritou bem alto; quando atingiu o clímax, contraiu os músculos da barriga e, com um esforço sobrehumano, tentou expulsar a criança
do ventre. Por breves instantes, nada aconteceu, apenas dores, umas atrás das outras. Então, com as últimas forças que lhe restavam, Letizia fez pressão e empurrou.
Ouviu-se algo a deslizar e a tensão desapareceu, e ela sentiu-se vazia. Imediatamente, a euforia apoderou-se dela, ao tocar com os dedos o pegajoso corpo do bebé, que se encontrava
entre as suas coxas. Ele reagiu ao toque, e foi com lágrimas de alívio e alegria que Letizia o levantou na direcção do peito, arrastando o cordão umbilical cinzento e pastoso.
Um rapaz.
Ele abriu a boca um bocadinho, e uma bolha de saliva formou-se nos lábios, rebentando logo de seguida. Os dedinhos mexiam-se e fechavam as mãos em pequenos punhos, enquanto
Letizia desatava os laços que prendiam a parte de cima do seu vestido. Tinha os peitos inchados muito para além do tamanho normal. Com uma mão, agarrou no pedaço de carne
pálida e ofereceu o mamilo ao menino. De imediato, os lábios contraíram-se, começaram a fazer ruídos de estalidos e fecharam-se em volta do mamilo. Letizia sorriu.
- Lindo menino!
Quando, pouco depois, Carlos e o doutor Franzetti irromperam pela sala adentro, ela recebeu-os com um sorriso.
- Ele está óptimo. Olha, Carlos, um rapaz forte e saudável.
O marido assentiu, e o doutor apressou-se a pousar a maleta no chão, junto do cadeirão. Examinou rapidamente o bebé e ficou visivelmente satisfeito, voltando-se depois para
a sua maleta. De dentro dela retirou uma pinça metálica, que colocou no cordão umbilical junto da barriga do menino; depois tirou uma tesoura, com que cortou a grossa fibra
musculosa do cordão. Após ter terminado, levantou-se e fitou a criança e os respectivos pais. Carlos passara a mão por cima dos ombros da mulher e sorria de felicidade, orgulhoso
do seu novo filho varão. Este, embora tivesse mamado até ficar de barriga cheia, mexia-se sem parar no colo da mãe.
- É bem mexido - disse o doutor Franzetti, com um sorriso. O sorriso foi interrompido por breves instantes, ao recordar que os dois últimos bebés de Letizia tinham nascido
mortos. - É forte e saudável e vai ficar bem; não vos deve dar problemas. Vou andando.
Carlos retirou o braço de cima da mulher e pôs-se de pé.
- Muito obrigado, senhor doutor.
- Ora! Eu não fiz quase nada. Ela é que fez tudo o que era difícil sozinha. Uma mulher de coragem que tu tens, Carlos.
Carlos olhou para a mulher e sorriu.
- Eu sei.
O doutor Franzetti pegou na maleta e dirigiu-se à porta. Quando lá chegou, parou e voltou para trás, olhando fixamente para a mãe e o filho.
- Já decidiram que nome lhe vão dar?
- Sim - respondeu Letizia, erguendo os olhos para ele. - Vai ter o nome do meu tio.
- Ah, sim?
- Naboleone.
O doutor Franzetti pôs a boina na cabeça e despediu-se com um aceno.
- Voltarei daqui a uns dias, para ver como está a criança. Até lá, desejo-vos um bom dia, Carlos e Letizia.
Fitou então o irrequieto bebé e gracejou:
- E para ti também, claro está, pequeno Naboleone Buona Parte.
Capítulo 4
Nos anos seguintes, Carlos Buona Parte nem conseguia acreditar na sua boa sorte. Não só tinha sido confirmada a sua amnistia pelo governo em Paris, como tinha conseguido emprego
como auxiliar do tribunal em Ajaccio, com um salário de novecentas libras de prata. Não era propriamente uma fortuna com que se sonhasse, mas permitia-lhe vestir e alimentar
a família e manter a mansão que herdara no centro da cidade. Com outra criança a caminho, Carlos precisava do dinheiro. O novo governador da Córsega, o conde de Marbeuf, simpatizara
com o jovem advogado, tornando-se patrono de Carlos, como parte integrante da sua missão de cimentar as relações entre a França e a sua nova província. Além de lhe ter obtido
a nomeação no tribunal, Marbeuf prometera também apoiar a petição à corte francesa para que o título de nobreza do pai fosse reconhecido a Carlos. Naquela altura, havia imensas
petições idênticas, já que a aristocracia corsa pretendia ver as suas tradições incluídas no sistema francês. Estava, pois, a ser retardada a sua petição, e de cada vez que
Carlos levantava a questão, o velho Marbeuf batia delicadamente com a mão, sorrindo de forma vaga, enquanto assegurava ao seu jovem protegido que tudo seria tratado em devido
tempo.
- Porquê o atraso? - perguntava-se Carlos. Poucos dias antes, o advogado Emilio Bagnioli tinha visto a sua petição aprovada, não obstante ter sido entregue uns bons seis meses
após a de Carlos.
Com o coração pesado, certa tarde, regressou a casa e subiu as escadas até ao primeiro andar. O tio de Letizia, Luciano, arquidiácono de Ajaccio, vivia no rés-do-chão. Era
muito raro sair de casa, achando-se demasiado enfermo. No entanto, a verdadeira razão por que o fazia era conhecida da
família: ele não se atrevia a afastar-se do cofre cheio de dinheiro, que escondia no quarto. Carlos tinha pouco tempo para perder com o velho sorumbático, limitando-se a acenar
com a cabeça, quando se cruzou com o arquidiácono encostado à ombreira da porta. Carlos subiu apressado os degraus que rangiam e entrou nas divisões da família no primeiro
andar, fechando rapidamente a porta atrás de si. Da cozinha, ao fundo do corredor, chegou até ele o barulho que os filhos faziam à mesa de jantar, juntamente com o som dos
pratos e talheres que Letizia lá ia colocando.
Ela recebeu-o com um sorriso doce, que logo se desvaneceu, mal viu a expressão sombria dele.
- Carlos, que se passa?
- Ainda não sei nada sobre a petição - respondeu Carlos, puxando uma cadeira e sentando-se.
- Tenho a certeza que isso se resolverá em boa hora. - Ela aproximou-se por detrás dele e afagou-lhe o pescoço. - Tem paciência.
Ele não lhe respondeu, voltando a atenção para os filhos, que o fitavam com os mesmos olhos penetrantes da mãe. Então, enquanto Giuseppe continuava a olhar para o pai, o filho
mais novo apressou-se a retirar um grande pedaço de chouriço do prato do irmão. Logo que deu pelo roubo, Giuseppe tentou recuperar a carne, mas Naboleone foi mais rápido do
que ele, deixando cair um murro nos dedos de Giuseppe, antes que estes alcançassem o prato. O irmão deu um grito e pulou na cadeira, entornando o copo de água na mesa. Carlos
irritou-se e deu dois murros na mesa.
- Vão para o quarto! Os dois. Já! - ordenou.
- Pai, é hora de jantar! - gritou o mais novo, com indignação. - E eu tenho fome!
- Silêncio, Naboleone! Faz o que te dizem!
Letizia pousou a tigela que segurava e foi ter com os filhos.
- Não discutam com o vosso pai. Vão. Já vos chamarei depois de termos conversado os dois.
- Mas eu tenho fome! - protestou Naboleone, cruzando os braços.
A mãe respirou com fúria e deu-lhe uma estalada na cara.
- Vais fazer o que te mandam. Agora vão!
Giuseppe já se encontrava fora da cadeira e, embora nervoso, tentou passar despercebido quando se cruzou com o pai na porta, correndo depois pelo corredor fora, em direcção
ao quarto que dividia com o irmão. Naboleone tinha sido surpreendido pelo estalo e começara a chorar, logo retendo as lágrimas com a boca contraída e os olhos a brilhar. Empurrou
a cadeira e pôs-se de pé e, lançando um olhar desafiador a cada um dos pais, saiu da cozinha, esticando as pequenas pernas no passo mais largo possível. A porta fechou-se
atrás dele, não sem antes ouvir o pai dizer em voz baixa:
- Um dia, este fedelho vai precisar de uma lição... - A seguir, o tom de voz baixou ainda mais, deixando de ser perceptível do exterior o que se discutia na cozinha.
Rapidamente, Naboleone se aborreceu de tentar escutar à porta, afastando-se pé ante pé. Só que em vez de se juntar a Giuseppe no quarto, desceu silenciosamente as escadas
e saiu para a rua. O Sol estava baixo a ocidente, projectando longas sombras na rua. O rapaz voltou-se para ele e seguiu na direcção do porto de Ajaccio. Com uma pose que
não condizia com uma figura tão pequena e magra, caminhou petulante pela avenida empedrada abaixo, com os polegares enfiados nos calções e assobiando, muito satisfeito consigo
mesmo.
Chegado ao cais que se estendia ao longo do porto, Naboleone dirigiu-se ao grupo de pescadores debruçados sobre as suas redes, a verificarem se estas estavam estragadas, antes
de as dobrarem para as poderem usar na pesca da manhã seguinte. Os cheiros da maresia e das tripas de peixe podre invadiram as narinas do miúdo, desde há muito habituadas
àquele mau cheiro. Ele cumprimentou-os com um aceno de cabeça, enquanto se aproximava, até que parou no meio do grupo de homens.
- Então, há novidades? - atirou.
Um velhote chamado Pedro levantou o olhar e abriu a boca, num sorriso quase desdentado.
- Naboleone! Outra vez a fugir daquela tua mãezinha?
O rapaz anuiu e aproximou-se do pescador, exibindo um luzidio riso trocista.
Pedro abanou a cabeça.
- Que terá sido hoje? Não fizeste as tarefas? Roubaste bolos? Bateste naquele pobre do teu irmão?
Naboleone riu-se e agachou-se ao lado do velho.
- Pedro, conta-me uma história.
- Uma história? E já não te contei histórias que chegassem?
- Ó pequenote! - interrompeu um dos pescadores mais jovens, piscando o olho a Naboleone. - Olha que algumas dessas histórias até são verdadeiras!
O homem deu uma gargalhada, a que os outros corresponderam com boa disposição.
- Sobretudo se nada tiverem a ver com as quantidades pescadas pelo contador das histórias! - acrescentou um outro pescador.
- Calem-se! - gritou Pedro. - Jovens tontos! O que é que vocês sabem?
- O suficiente para não acreditarmos em ti, velhote. Pequenote, não te deixes levar pelas fantasias dele.
Naboleone fixou o interlocutor:
- Eu acredito no que quero. Não te atrevas a fazer pouco dele, ou eu...
- Ou tu, o quê? - O pescador fitava-o, não sem alguma surpresa.
- Que é que me vais fazer, pequenote? Deitar-me ao chão? Queres experimentar?
Levantou-se e caminhou em direcção ao rapaz. Naboleone mediu-o com o olhar, semicerrando os olhos face ao brilho alaranjado com que o Sol poente iluminava a figura do homem.
Tinha uma estatura formidável: tronco largo, pernas e braços grossos e musculados e pés... descalços. O rapaz sorriu e encaminhou-se para ele de punhos fechados, em posição
de combate. Os restantes pescadores desataram a rir, mas quando o homem se juntou a eles nas gargalhadas, Naboleone deu um salto em frente, pisando-lhe os dedos do pé com
o salto do sapato, com toda a força que tinha.
- Ai! - O homem recuou o pé, cheio de dores, agarrando-o e pulando numa perna só. - Sacana de miúdo!
Naboleone avançou para ele, estendeu os braços para cima e deu um forte empurrão no topo da cabeça do homem, que o fez perder o equilíbrio e cair de costas em cima de um caixote
de peixe. A doca explodiu com as gargalhadas dos pescadores, muito divertidos com o azar do camarada.
Pedro pôs uma mão no ombro de Naboleone:
- Muito bem, meu rapaz! Podes ser pequeno - e com a outra mão bateu-lhe nos ossos do peito - mas tens coragem.
O homem levantou-se a custo do caixote, sacudindo as escamas de peixe da camisa e dos calções.
- Sacana de miúdo - murmurou por entre dentes -, precisas de uma lição.
- É melhor desapareceres! - disse Pedro, empurrando-o dali para
fora.
Naboleone saltou por cima das redes, as pernas curtas correndo a toda a brida para a travessa mais próxima, com o pescador atrás dele. Mas antes que o seu perseguidor pudesse
ultrapassar o montão de redes, Naboleone chegou à travessa, e antes de desaparecer de vista, deitou a língua de fora, em sinal de desafio. Não querendo arriscar-se a que o
homem não tivesse desistido da perseguição, continuou a correr, cortou para uma travessa lateral e reapareceu na doca, a alguma distância dos pescadores. Naquela tarde não
iria lá voltar.
No extremo do cais ficava a entrada da cidadela, onde o conde de Marbeuf tinha a residência oficial.
Um grupo de soldados franceses estava sentado à sombra da árvore, junto ao portão. Quando viram o rapaz, gritaram e acenaram um cum-
primento à criança, que se tinha tornado numa espécie de mascote para eles. Naboleone respondeu com um sorriso e juntou-se ao círculo. Embora pouco entendesse da língua francesa
e apenas falasse um dialecto corso da língua italiana, uns tantos soldados falavam alguma coisa em italiano e conseguiam mais ou menos conversar com ele. Por seu lado, ele
tinha apanhado umas palavras em francês, que incluíam os palavrões que os soldados costumam ensinar às crianças, para assim se divertirem à custa delas.
Parecia que tinham andado à procura dele, e gesticularam para que se sentasse num banco ao pé deles, enquanto um soldado entrava na cidadela e corria na direcção do quartel.
Naboleone percorreu os franceses com o olhar, notando que o fitavam divertidos e expectantes. Um deles cortava um chouriço em rodelas grossas, e o rapaz chamou-o, apontando
primeiro para o chouriço e depois para a boca. O homem sorriu e deu-lhe umas tantas rodelas, bem como um naco arrancado do pão acabado de cozer. Naboleone mastigou os seus
agradecimentos juntamente com a comida, que empurrou boca abaixo.
Ecoou o som dos protectores de metal das botas a bater nas lajes, anunciando o regresso do soldado que tinha ido à caserna, e trazia um pano cuidadosamente dobrado debaixo
de um braço. No outro transportava uma espada de madeira. Agachando-se em frente do rapaz, colocou a espada no chão ao lado dele e desdobrou o pano com delicadeza, revelando
um uniforme de tamanho pequeno e um tricórnio de criança. O soldado apontou então para a sua própria farda.
- Estás a ver? - disse ele em italiano, com forte sotaque francês.
- É a mesma coisa.
Os olhos de Naboleone abriram-se com entusiasmo. Pôs de lado a comida que tinha nas mãos e mastigou e engoliu num instante a que tinha na boca. Levantou-se e pegou na casaca
branca com bandas azuis primorosamente pespontadas e botões metálicos brilhantes. Enfiou os braços nas mangas e deixou que o soldado a abotoasse e lhe colocasse um cinto pequeno
na cintura. De seguida, o homem abotoou também umas perneiras que chegavam à bainha da casaca. Outro soldado colocou-lhe o chapéu na cabeça, e logo todos se reuniram à volta
para inspeccionar os resultados. O rapaz pegou na espada e pô-la no cinto, antes de se pôr em sentido e de lhes fazer continência. Os franceses desataram a rir e deram-lhe
palmadinhas nas costas. Um dos que falavam italiano inclinou-se para ele.
- Agora és um soldado a valer. Só te falta o juramento. - Pôs-se em sentido e levantou a mão direita. - Monsieur Buona Parte, por favor, erga a mão direita.
Naboleone hesitou por um momento. Afinal eram franceses, e não obstante a amizade entre a mãe e o governador, ela costumava recriminar os
novos senhores da Córsega. Naboleone olhou para o seu belíssimo uniforme, com o punho dourado da espada a sobressair do cinto e depois olhou para os homens sorridentes que
o rodeavam. Sentiu um desejo imenso de pertencer ao grupo e ergueu a mão.
- Bravo! - gritou um deles.
- Agora, pequeno corso, repete o que digo: Juro obediência eterna a Sua Muito Católica Majestade, o Rei Luís...
Naboleone repetiu as palavras sem pensar, enquanto delirava com a alegria de se tornar num soldado e com a hipótese das aventuras que poderia viver, de todas as guerras em
que poderia lutar, de como se tornaria num herói, comandando os seus homens numa carga destemida contra um inimigo muito superior, de como triunfaria e seria aclamado pelos
amigos e família.
- Pronto. Já está, meu rapaz - disse então o soldado francês. - Agora és um dos nossos!
Porém, os pensamentos de Naboleone continuavam com a família. Olhou para trás, na direcção do porto, onde as primeiras lâmpadas estavam a ser acesas ao longo da rua e nas
janelas das casas.
- Tenho de ir - murmurou, gesticulando na direcção da sua casa.
- Ora essa! Já estás a desertar? - riu-se o soldado.
Naboleone começou a desabotoar a casaca, mas o soldado agarrou-lhe na mão.
- Não. O uniforme é teu. Fica com ele. Agora és um dos homens do rei, e contamos que te apresentes ao serviço um destes dias.
Naboleone observou a casaca, atento, mas descrente.
- É meu? Posso levá-lo?
- Com certeza! E agora, mexe-te.
O rapaz olhou o soldado nos olhos.
- Obrigado! - disse em voz baixa, com os dedinhos agarrando o punho da espada de brinquedo. - Muito obrigado.
À medida que caminhava para fora do grupo, os soldados iam abrindo alas, como se fosse um general. Quando ele se voltou, um deles gritou uma ordem, e todos se puseram em continência,
com grandes sorrisos. Naboleone, de cara muito séria, retribuiu a continência. A seguir, voltou-se e marchou rua abaixo em direcção a casa, sentindo-se tão alto quanto um
homem e tão grandioso quanto um rei.
Os franceses regressaram às suas rações de chouriço, pão e vinho. O soldado que o ajudara a vestir permaneceu, por instantes, a observar o miúdo a marchar rua abaixo, sorrindo
com satisfação. Depois virou-se e juntou-se aos camaradas.
Capítulo 5
Quando chegou a casa, já era noite. A fanfarronice de Naboleone ia abandonando a sua expressão, à medida que se aproximava o momento em que teria de regressar ao quarto sem
ser apanhado. Parou no hall de entrada por uns instantes, esforçando-se por ouvir quaisquer sons que houvesse em casa. Escutou as vozes dos pais no primeiro andar. Escapuliu-se
até às escadas, encostou-se à parede tanto quanto era possível, de modo a evitar que os degraus rangessem, e começou a subir devagar. Tinha o coração na boca e o corpo tenso,
quando chegou ao cimo e se esgueirou pela porta dos quartos da família e pelo corredor às escuras, na direcção do quarto, que partilhava com Giuseppe. Não chegou lá. Inesperadamente,
a espada de madeira, presa ao cinto, roçou num rodapé. Antes que pudesse galgar a distância que o separava do quarto, a porta da cozinha abriu-se, e uma claridade baça iluminou
o corredor.
- Onde é que...? - começou o pai, antes de fazer uma pausa, enquanto a surpresa substituía a fúria. - O que tens tu vestido? Vem cá!
Desconfiado, Naboleone caminhou para a cozinha, parou, tirou o tricórnio da cabeça, ergueu os olhos para o pai, que permanecia junto à porta, e entrou. A mãe estava sentada
à mesa e cerrou os lábios quando viu o uniforme:
- Onde arranjaste isso?
- Foi... um presente...
- De quem?
- Dos soldados da cidadela.
Letizia levantou-se e apontou ao filho um dedo em riste:
- Despe isso imediatamente! Como te atreves a usá-lo?
Naboleone ficou chocado com o veneno na voz dela. Despachou-se a
abrir o cinto e a desabotoar a casaca, despindo-a de seguida e colocando-a em cima da mesa. Seguiram-se as perneiras, o tricórnio e a espada. Durante todo o tempo, os pais
observavam-no pasmados. Por fim, o pai quebrou o silêncio:
- Diz-me que não andaste pelas ruas a passear esse uniforme.
- Claro que sim.
Carlos revolveu os olhos e deu uma palmada na testa.
- Alguém te viu? - perguntou Letizia.- Fala! Diz a verdade.
Naboleone tentou recordar-se.
- Estava a escurecer. Cruzei-me com algumas pessoas.
- E elas reconheceram-te?
- Sim.
- Assim sendo - disse Letizia com amargura -, vai saber-se que
o nosso filho foi visto vestido à soldado francês. É o fim para qualquer boa reputação que a nossa família tenha tido nesta cidade. Já é mau o suficiente que o teu pai trabalhe
para os franceses, Naboleone. Quanto mais um filho que anda por aí de uniforme francês. Os paolistas vão arrastar pela lama o nosso nome, por causa disto.
Carlos chegou-se à mesa e inspeccionou o uniforme miniatura.
- Estás a exagerar, Letizia. Isto não passa de um brinquedo. É um traje de fantasia. Fizeram-no para ele, por brincadeira.
- É um presente que me deram - disparou Naboleone. - É meu!
- Silêncio, grande palerminha - disse friamente Letizia. - Ainda não percebeste o que fizeste? Até que ponto nos deixaste ficar mal?
O miúdo abanou a cabeça, perplexo com a fúria da mãe.
- É melhor que percebas, antes que nos arruines por completo a reputação. Sabes que ainda há grupos de patriotas corsos que lutam na resistência contra os franceses? Sabes
o que fazem eles aos colaboracionistas que capturam?
Naboleone abanou a cabeça.
- Cortam-lhes as gargantas e deixam os corpos onde possam ser vistos por outros, como aviso. Queres que nos façam isso a nós?
- Não, não, mãe...
- Pára com isso! - disse Carlos, erguendo a mão. - Letizia, estás a assustar o miúdo.
- Ora, ainda bem! Ele precisa de ficar assustado. Para bem dele e nosso.
- Mas nós já não estamos na resistência, estamos na cidade. A guarnição está aqui para nos proteger e para restabelecer a ordem. Os paolistas pouco mais são do que bandoleiros.
Vão acabar com eles antes de o ano terminar. Os franceses vieram para ficar, e quanto mais depressa o povo aceitar isso, melhor. Eu já aceitei.
Ela fez um ar mordaz.
- Não penses que não reparei. Não penses que não me enoja termos vendido os nossos direitos de nacionais corsos, para salvaguardar o futuro da nossa família.
Naboleone observava com ansiedade o confronto entre os pais e quase se engasgou quando interrompeu a discussão:
- Mãe, eu só estava a brincar com eles.
- Então, não brinques! Nunca mais. Entendido?
Ele anuiu.
- Quanto a isto - ela amontoou as peças da fatiota -, tem de desaparecer.
- Mãe, não!
- Silêncio! Tem de desaparecer mesmo. E tu nunca vais falar disto a ninguém.
O rapaz sentiu-se a ferver por dentro, mas sabia que tinha de aceitar a vontade da mãe, ou apanhar uma tareia de que não se esqueceria durante muito tempo. Por isso, assentiu.
- Em qualquer caso - disse Carlos num tom de voz calmo -, tens passado demasiado tempo às voltas na cidade. Quase pareces um selvagem. Olha só para ti! O cabelo precisa de
ser penteado. Ou melhor ainda, precisa de ser cortado. Precisas de te lavar e precisas de disciplina. Está na hora de ires para a escola.
O rapaz sentiu o coração a afundar-se no estômago. Escola? Isso era tão mau como ir para a prisão.
- A tua mãe e eu já decidimos. Precisas de educação. Amanhã vou falar com o abade Rocco para tu e o Giuseppe serem admitidos na escola dele. Vamos ficar com menos dinheiro
em casa. Mas, vistos os acontecimentos de hoje, não me parece que possamos evitar essa despesa.
Capítulo 6
Irlanda, 1773
Anne encheu mais uma chávena de chá e dirigiu o olhar através das portas da estufa, até ao relvado onde as crianças estavam a brincar. Os dois rapazes mais velhos, Richard
e William, lá estavam outra vez a dar ordens a Anne e a Arthur, enquanto tentavam moldar um navio a partir de blocos de madeira gastos e lençóis velhos. Um livro de piratas
tinha circulado pelo quarto das crianças e tinha sido devorado por cada uma delas à vez, e, durante as últimas semanas do Verão, não tinham brincado a mais nada. Como sempre,
o sossegado Arthur, agora com quatro anos de idade, falava pouco, mas fazia o que lhe mandavam, intensamente concentrado. Anne observava-o, com uma apurada sensação de pena.
Ele tinha desenvolvido um aspecto sensível. O nariz possuía uma ligeira curvatura para baixo e os olhos eram azuis-claros brilhantes, emoldurados por longos cabelos louros
que esvoaçavam ao vento, à medida que se atarefava de um lado para o outro.
Anne ergueu a chávena e sorveu o chá com delicadeza. No chão, a seu lado, dormia o filho mais pequeno, Gerald, um ano mais novo do que Arthur. Ela esperava já outro, que se
chamaria Henry, caso fosse rapaz.
No outro lado da mesa, Garrett estava sentado, com uma enorme partitura musical espalhada à sua frente. Trabalhava numa nova composição e, de vez em quando, pegava no violino
e ensaiava arranjos novos,
dedilhando as cordas. De repente parava, pousava o instrumento, pegava numa pena e rabiscava alterações às notas marcadas nas escalas.
Anne tossiu levemente.
- Garrett, tens ideia de como será o futuro dele?
- O quê? - balbuciou de repente o marido. Molhou o bico da pena na tinta e riscou irritado várias notas.
- O Arthur.
Garrett ergueu os olhos, franzindo a testa.
- Que é que ele tem?
- Fazes o favor de pousar essa pena, para podermos conversar?
- Mas que coisa! Está bem. Pronto. - Recostou-se na cadeira e juntou as mãos, sorrindo. - Sou todo teu.
- Muito agradecida. Estava aqui a pensar o que achas tu do Arthur.
- O que acho eu dele? - Garrett virou-se e olhou para as crianças a brincar no jardim, como se só então tivesse dado conta de que elas ali estavam. - Oh, ele não vai ter problemas.
- Deveras? E que futuro é que tu achas que ele terá?
- Bem, não sei. Talvez qualquer coisa na Igreja. É o que me parece.
- No clero?
- Sim. Ele até agora não deu sinais de nenhuma excelência intelectual. Olha para o Richard e o William. Até o pequeno Gerald está a aprender as letras e os números mais depressa
do que o Arthur. Claro que o vamos ajudar em tudo o que pudermos, mas não me parece que vá parar a Oxford ou a Cambridge.
- Pois. Não parece, não.
Nesse instante, a conversa foi interrompida por um grito estridente vindo do jardim, que os fez voltar as cabeças de imediato. Arthur tinha caído de joelhos e deitava as mãos
à cabeça. Uma espada de madeira estava no chão, ao lado dele. William, furioso, fitava o irmão mais novo.
- Por amor de Deus, Arthur! Foi só um toque. E eu tinha-te dito para te defenderes.
Garrett abanou a cabeça e olhou para a partitura. Um pensamento inesperado fê-lo olhar novamente para cima.
- Arthur! Vem cá, meu rapaz!
Sorriu, ao ver o filho encaminhar-se para ele, com passinhos de criança.
- Acho que é tempo de aprenderes a tocar um instrumento musical. Que melhor pode ser do que um violino? Vem cá, miúdo. Vou ensinar-te.
Sob o olhar atento de Anne, Garrett mostrou o violino ao rapaz, ensinando-lhe o nome de cada corda. A seguir, pegou no arco e tocou várias no-
tas. Em poucos minutos, Arthur tinha-se esquecido da pancada na cabeça, à medida que os seus olhos brilhantes absorviam, ávidos, cada pormenor do instrumento, e ele se concentrava
nos ensinamentos do pai. Pouco depois, o pai puxou uma cadeira, sentou lá o rapaz com o violino no colo e deixou-o tocar nas cordas, provocando uma série de sons arrepiantes
e desconexos. Gerald acordou com o barulho e ergueu-se no meio das almofadas, muito aflito com todo aquele alarido.
Anne sorriu.
- Está na hora de jantar, não é? Vão indo os dois. Arthur, pousa o violino e vai para a cozinha. Eu e o teu pai já lá vamos.
- Sim, mãe.
Garrett estendeu as mãos para receber o violino.
- Obrigado. Queres que te ensine a tocar violino a sério?
Os olhos do rapaz brilharam.
- Sim, pai. Quero. Gostava muito.
Garrett riu-se.
- Óptimo! E um dia vamos compor música juntos.
Arthur sorriu, cheio de alegria, e deu a volta à mesa. Ajudou o irmão a levantar-se e, segurando-lhe na mão, conduziu-o para a cozinha. Os passinhos apressados de ambos foram
seguidos pelos olhares dos pais, que em seguida se entreolharam e sorriram.
- Pode bem vir a ser um músico - disse Garrett.
- Que Deus nos ajude! - replicou Anne, em voz baixa. - Os teus concertos de caridade ainda vão ser a nossa ruína.
- Francamente! Podemos dar-nos a esse luxo. Para além de que é meu dever cristão levar a cultura aos menos favorecidos.
- Eu julgava que o teu primeiro dever cristão era para com o bem-estar da tua família.
- E é, minha querida. - Fitou-a intensamente. - Ora, estávamos nós a falar do pequeno Arthur. A sério, acho que ele poderá estar talhado para uma carreira musical.
- Que maravilha! - retorquiu Anne com ironia.
- Bom, pois sim... Entretanto, temos de lhe arranjar uma escola. Tenho uma em mente.
- Ah, sim?
Garrett anuiu.
- A Escola Diocesana, em Trim. Conheces o local. A abadia de Santa Maria.
Anne pensou no filho.
- Achas que ele tem idade suficiente?
- Minha querida, se não começamos a prepará-lo para a vida agora,
quando começamos? Se não o queremos ver ultrapassado pelo sucesso dos irmãos mais velhos, temos de lhe dar uma educação exigente.
- Claro que tens razão. Só que ele parece tão frágil... Tenho medo que lhe aconteça alguma coisa.
- Ele vai ficar bem - Garrett assegurou, reconfortante.
Capítulo 7
Córsega, 1775
- Não vou! Não vou!
Letizia abanou o rapaz pelos ombros.
- Vais e vais mesmo e acabou-se! Agora veste-te.
No exterior, a primeira luz do dia ia incidindo sobre os recortes do casario da rua. Letizia levou o filho até às roupas estendidas em cima da cama e apontou para elas.
- Já!
- Não! - Naboleone respondeu-lhe aos gritos e cruzou os braços.
- Não vou!
- Vais sim! - Letizia deu-lhe uma estalada na cara. - Vais para a escola, meu menino, e vais-te vestir. Vais tomar o pequeno-almoço e vais portar-te muito bem quando fores
apresentado ao abade. Ou vais levar a tareia da tua vida. Faço-me entender?
O filho ergueu o sobrolho, os olhos brilhando com o desafio. Letizia benzeu-se.
- Santa Maria, Mãe de Deus, dai-me paciência. Porque não serás tu mais parecido com o teu irmão?
Ela virou a cabeça na direcção de Giuseppe, que abotoava as botas nesse momento. As roupas estavam impecáveis e o cabelo brilhava de tão bem penteado.
- Ele? - Naboleone deu uma gargalhada. - Não me faça rir, mãe. Quem quererá ser como ele? O mariquinhas.
Letizia deu-lhe outro estalo, muito mais forte do que o anterior, deixando a marca dos dedos finos estampada na bochecha.
- Não te atrevas a falar assim do teu irmão. - Apontou novamente para as roupas. - E agora veste-te. Se não estiveres pronto quando eu voltar, vais ter pão duro para comer
à ceia.
Ela saiu do quarto apressada e dirigiu-se à cozinha, onde o choro de Lucien, o seu filho mais novo, reclamava mais comida.
Por um instante, Naboleone permaneceu imóvel, a olhar fixamente para as roupas, com os braços cruzados. No outro lado do quarto, Giuseppe
acabou de atar os atacadores e ficou de pé a olhar para o irmão mais novo.
- Porque é que fazes isto? - perguntou ele em voz baixa.
- Perdão! Disseste alguma coisa?
- Porque é que tens de a irritar tanto? Ao menos uma vez, não poderias fazer o que ela quer?
- Eu não quero ir para a escola. Quero ir brincar. Quero ir ter com os soldados outra vez.
- Mas não podes! - sussurrou Giuseppe. - Tens de ir para a escola comigo. Temos de aprender a ler e a escrever.
- Porquê?
O rapaz mais velho abanou a cabeça.
- Não podes ser um miúdo a vida inteira. Não podes ser tão egoísta. Se queres ter sucesso quando cresceres, tens de ter estudos. Como o pai.
- Bah! E onde é que a bela educação o levou? A auxiliar do tribunal. Grande coisa.
- O emprego do pai dá para nos vestirmos e alimentarmos e agora até chega para irmos estudar. Devias estar agradecido por isso.
- Pois não estou!
Giuseppe abanou a cabeça.
- Sinceramente, tu és tão ingrato. Às vezes nem acredito que somos irmãos.
Naboleone sorriu:
- Às vezes eu também não acredito. Olha para ti. O menino da mamã. Fazes-me rir.
Giuseppe cerrou os punhos e avançou para o irmão, mas Naboleone nem se mexeu e riu-se com desprezo.
- Mas o que é isto? Queres mesmo lutar comigo? Parece que te julguei mal. Vamos a isso, então.
Descruzou os braços e pôs-se em posição de combate.
Giuseppe parou, abanou a cabeça e saiu pela porta na direcção da cozinha. Tinha lutado com o irmão vezes suficientes para saber que não valia a pena. Não que Naboleone lhe
fosse superior. Ele não sabia era quando parar, reduzindo quase todas as lutas de rapazes a rixas sangrentas, até que um adulto intervinha e punha fim ao assunto. Giuseppe
desesperava com
o comportamento de Naboleone e não podia evitar o desejo de que a mãe tivesse dado à luz um irmão mais simpático e menos turbulento. Ao mesmo tempo, tinha por ele alguma admiração.
Ninguém mandava nele e quem o tentava domar, quase sempre levava para contar. E também não era parvo nenhum, aquele rapaz. A sua mente era tão aguçada quanto os punhais dos
homens da rua, e ele usava-a com tanta rapidez quanto a deles a fazerem uso dos punhais. Pelo contrário, Giuseppe sentia-se um paspalho, demasiado
ansioso por agradar. Quando as amigas da mãe elogiavam a delicadeza do filho mais velho, Letizia não se detinha no elogio por muito tempo, preferindo falar incessantemente
da esperteza do filho mais novo, embora o mau comportamento dele a enfurecesse.
Entretanto, no quarto, Naboleone ficou em silêncio por um momento. Depois olhou em volta, a confirmar que se encontrava totalmente sozinho, antes de despir a camisa de noite
e de se começar a vestir.
Os rapazes começaram a escola pouco depois do nascer do Sol. Embora Giuseppe tenha seguido de imediato para a sala e iniciado as aulas com os outros alunos, Naboleone foi
levado à presença do abade, com quem aprendeu a ler e a escrever, todas as manhãs, durante uma hora, antes de ser autorizado a juntar-se à turma. Depois, a seguir ao almoço,
tinha ainda uma hora de exercícios literários elementares, antes de ser autorizado a regressar a casa.
No início, ele retornava às suas surtidas, logo que a escola acabava, mas a partir do momento em que a curiosidade foi espicaçada pelos ensinamentos do abade, Naboleone passou
a estar cada vez mais tempo com os soldados franceses, esforçando-se por aprender a língua dos novos governantes da Córsega. Devido aos sentimentos patrióticos da mãe, ele
empenhava-se em que não transpirasse uma única palavra acerca do tempo que passava com os homens da guarnição, dizendo-lhe que ia pescar e passear nos campos em redor de Ajaccio.
De vez em quando, até o fazia, regressando a casa com uns peixes que pescara, ou com um coelho que apanhara. Mesmo nessas ocasiões, tinha oportunidade de trocar umas palavras
com as numerosas patrulhas francesas ainda em busca de algum grupo de paolistas, que se aventurasse fora da zona da resistência. Só por uma vez avistara rebeldes: um sombrio
grupo de homens, armados com velhos mosquetes, escondidos atrás das árvores, ao longe. Pouco depois de terem desaparecido da sua vista, escutou estalidos de tiroteio e chegou
a pensar ir dar uma espreitadela, mas o medo foi mais forte, e correu para casa.
- Pobres diabos - murmurou o pai, após ter ouvido a história à mesa de jantar.
- A quem te referes? - perguntou Letizia. - Aos teus antigos camaradas de armas, ou aos teus novos amigos?
Carlos fixou o olhar nela por uns instantes, antes de afastar o prato para o lado e de se virar para os filhos.
- Como correu a escola hoje, Giuseppe?
Enquanto o irmão descrevia, pedante, todos os pormenores das actividades do dia, os pensamentos de Naboleone regressavam aos homens que avistara nessa tarde. Muitos habitantes
de Ajaccio tinham-nos por idealistas lunáticos causadores de problemas, quanto muito, ou simples bandoleiros.
No entanto, eram corsos, falavam a mesma língua. Os franceses ainda se sentiam estrangeiros, e o facto de ter nascido súbdito francês causava-lhe estranheza. Afinal, o que
era ele? Era corso ou francês? Cada vez que considerava a questão, a resposta era sempre a mesma: era corso.
- E então tu?
Percebeu que o pai falava com ele e apressou-se a responder.
- Está tudo bem, pai. Eu até tenho boas notícias para lhe dar. Temos estado a estudar os romanos e os cartagineses e eu aprendi imenso. O abade já disse que eu podia juntar-me
à turma principal durante o dia inteiro.
- Deveras? - Carlos estava entusiasmado. - Isso é excelente. E num tão curto espaço de tempo. Acho que ainda fazemos de ti um belo erudito, meu rapaz.
O pai estendeu a mão e despenteou-lhe o cabelo, enquanto Naboleone tentava parecer feliz com a perspectiva de vir a ser um erudito. Ele já tinha a noção de que queria ser
alguém na vida. Não queria passá-la a estudar o que outros homens tinham feito.
- Bem, agora é a minha vez de dar boas notícias - disse Carlos sorrindo.
A família virou-se para ele expectante, mas Carlos apontou com a cabeça o prato que colocara de lado na mesa.
- Excelente guisado, minha querida. Ainda há por aí algum?
Letizia levantou a pesada tampa do pote de ferro.
- Ainda há. Mas eu dou-te com isto na cabeça, se não paras com a brincadeira e não nos dizes o que se passa.
Ele deu uma gargalhada.
- Muito bem. A Corte Real de Paris confirmou o certificado do governador referente ao meu título de nobreza. Foi Marbeuf quem mo disse hoje.
- Até que enfim! - murmurou Letizia. - Caso encerrado.
- Melhor ainda é que soube que agora temos direito de pedir uma bolsa, para inscrevermos os rapazes em escolas francesas.
Letizia parecia pasmada e Naboleone confuso.
- Que quer isso dizer, pai?
- Quer dizer que daqui a uns anos, tu e o Giuseppe podem frequentar uma das melhores escolas de França. Terão acesso à melhor educação que existe. Claro que terão de ser fluentes
em francês antes de irem, mas há muito tempo para isso.
- Estudar em França? - sussurrou Giuseppe. - A mãe e o pai vão connosco?
Ela abanou a cabeça e virou-se para o marido.
- Está visto. Primeiro tiram-nos a terra. Depois vêm buscar os nos-
sos filhos. Levam-nos daqui para fora e transformam-nos em perfeitos francesinhos.
Carlos abanou a cabeça.
- Não é nada disso, minha cara. É uma oportunidade, uma hipótese de eles progredirem. Hipótese que nunca terão se ficarem aqui. Pensei que te agradasse.
- Tenho a certeza de que foi isso que pensaste. E eu tenho de pensar
nisto.
Carlos desviou o olhar dela, com toda a calma.
- Já enviei a petição para Paris. Marbeuf assinou-a logo que me tornei elegível.
- Estou a ver que sim - Letizia abanou a cabeça. - Merci!
Capítulo 8
- Eu sempre soube que ele era capaz!
Letizia sorriu de satisfação, abanando o relatório da escola em frente da cara do marido, quando ele regressou do tribunal. Carlos pegou na folha e leu-a integralmente, enquanto
a família, sentada à mesa, aguardava expectante. Tudo indicava que os dois anos passados na escola do abade Rocco tinham produzido efeitos. Dois anos mais, e mais duas crianças,
reflectiu Carlos. Para além de Giuseppe e Naboleone, havia agora mais duas bocas para alimentar: Lucien, e o pequeno Louis, que ainda precisava de aprender para que serviam
os talheres, pois, nesse momento, estava muito ocupado a tentar meter o cabo de uma colher pelo nariz acima.
O abade Rocco era extraordinariamente elogioso em relação aos progressos de Naboleone. O rapaz era excelente em Matemática e História, como sempre fora, mas os seus conhecimentos
de artes e línguas ficavam muito atrás. O comportamento também tinha evoluído (fazia muito menos fitas e andava muito menos vezes à pancada com os outros rapazes) e, embora
de vez em quando ainda questionasse a autoridade, no cômputo geral, não causava problemas. Carlos pousou a folha de papel e fitou o filho, anuindo.
- Muito respeitável. Bom trabalho!
Os olhos de Naboleone brilharam de prazer.
- Pai! - disparou Giuseppe. - Leia o meu relatório!
- Onde está ele?
- Aqui.
Letizia pegou no papel, que se encontrava em cima da tábua de cozinha, e entregou-o ao marido.
- Aí não há surpresas.
A leitura dos progressos académicos do rapaz mais velho levou menos tempo. Giuseppe era um miúdo simpático, bem-educado e respeitador, que estava a obter bons resultados em
todas as matérias e que parecia ter um interesse especial por assuntos eclesiásticos. Carlos pousou o relatório em cima do de Naboleone:
- Muito bem, rapazes. Estou muito orgulhoso dos dois. Giuseppe, já pensaste em seguir a carreira eclesiástica? Parece que tem a ver contigo.
- Já pensei nisso, pai.
Letizia anuiu.
- Uma boa carreira. E tu tens o temperamento certo para ela.
- Acha que sim?
- Sem dúvida.
Giuseppe sorriu para a mãe, e Carlos voltou-se para o filho mais novo:
- E tu, Naboleone, que queres ser quando fores grande?
- Um soldado - respondeu ele, sem a mínima hesitação.
Carlos sorriu.
- Isso é um objectivo muito nobre, meu filho. Acho que darás um excelente soldado, embora tenhas de compreender que tens de obedecer a outros.
- Eu não quero obedecer a ordens, quero é dar ordens.
- Pois bem, terás de estar preparado para ambas as situações, se queres ser um bom soldado.
-Oh...
Letizia começou a servir o jantar: um ensopado de cabrito com avelãs, uma das receitas favoritas da família. Quando todas as tigelas estavam cheias, sentou-se. As crianças
ficaram em silêncio, fecharam os olhos e juntaram as mãos em sinal de oração, enquanto Carlos rezava a acção de graças. Quando começaram a comer, ela olhou para o marido,
na outra ponta da mesa:
- Já sabes alguma coisa das bolsas de estudo para os miúdos?
- Não. Não tive resposta da Academia de Montpellier. Parece que sempre irão para Autun.
Letizia franziu o sobrolho.
- Para Autun?
- Autun serve para início - disse Carlos. - Eles têm boas ligações com algumas academias militares. Se Naboleone quer ir para o exército, será um bom começo para ele, até
eu arranjar um sítio melhor. Enviei a inscrição para Brienne, hoje de manhã.
- Isso é tudo muito bonito - disse Letizia em voz baixa - mas mesmo que eles tenham bolsas, como poderemos pagar o restante das propinas?
- Talvez não tenhamos que o fazer - continuou Carlos. - O governador prometeu pagar-nos as propinas.
Letizia ficou paralisada por um instante, abanando a cabeça em seguida.
- Quem diria que descemos tão baixo, que até temos de aceitar esmolas.
- Não é esmola nenhuma, minha querida - disse Carlos, esforçando-se por não se alterar. - Ele dá muita importância aos serviços que prestamos a França.
- Deve ser verdade, deve.
- Para além de que ele tem rendimentos para isso, e nós não. Não seria muito delicado recusar a oferta.
- Pois!
Letizia continuou a comer. Passado algum tempo, dirigiu-se de novo ao marido.
- Achas que é o melhor para eles?
- Acho. O futuro deles está em França. É lá que estão as melhores oportunidades para progredirem. Terão de estudar lá.
- Mas terão de sair de casa. Quando os voltaremos a ver?
- Não sei - respondeu Carlos. - Quando tivermos posses para isso, poderemos visitá-los ou tê-los em casa nas férias.
- E como irão eles arranjar-se sem mim?
- Pergunta-lhes - disse ele com firmeza. - Ouve o que eles pensam do assunto. Naboleone!
- Pai?
- Queres ir para a escola em França?
O rapaz olhou de soslaio para a mãe.
- Se tiver de ir...
Carlos olhou para ele e sorriu.
- Bravo! Estás a ver, Letizia? Ele entende.
- Mas eu não entendo! - Ela abanou a cabeça tristemente. - Não entendo que fiz eu para os meus filhos me quererem abandonar ainda antes de crescerem. Vão-se embora e esqueçam-me!
- Mãe - Naboleone falou com convicção -, nunca a vou esquecer. Vou voltar sempre que puder. Juro. O Giuseppe também.
Voltou-se para o irmão.
- Jura!
- Eu prometo que sim, mãe.
Letizia encolheu os seus estreitos ombros.
- Veremos.
Capítulo 9
A carta chegou em Novembro: Giuseppe e Naboleone tinham sido admitidos na Escola de Autun, no novo ano, com generosas bolsas de estudo atribuídas pelo governo francês. Os
dias que faltavam decorreram em estado de antecipação nervosa para Naboleone. Tinha oito anos e não obstante
o espírito independente e o gosto pela aventura, foi ficando cada vez mais ansioso com a perspectiva de ter de sair de casa. Deixaria de ter a concha familiar para onde regressar
ao fim do dia, onde estava rodeado do conforto dos seus. Embora falasse bem francês, sabia também que o seu sotaque iria marcá-lo como estranho ao meio.
Partiram bem cedo, numa manhã de meados de Dezembro. Toda a família se levantou para se despedir dos dois rapazes. Até o tio Luciano, acamado com um ataque de gota, lá foi
coxeando com dores até à rua, para lhes deixar nas mãos umas tantas moedas para gastos. Tinham alugado uma carruagem com cocheiro para transportar Letizia e os dois filhos
até ao porto de Bastia, onde ela se encarregaria de os pôr a bordo de um navio com destino a Marselha. Com muitos gritos e acenos de despedida, a família assistiu à partida
da carruagem rua acima, até que virou na esquina e desapareceu de vista.
Carlos permaneceu ali mais um pouco, sentindo-se bastante mal com a certeza de que não tornaria a ver os filhos por muitos meses e duvidando agora da decisão de os enviar
para França. Sempre lhe parecera ser a coisa mais sensata a fazer, durante todos os anos que peticionara o seu título nobiliárquico e depois as bolsas de estudo, tendo em
vista o futuro deles. Agora tinha chegado a hora da fruição dos seus planos, e sentia-se como se lhe estivessem a arrancar o coração do peito.
A carruagem deixou Ajaccio e iniciou a subida para a região à volta, estava o Sol a nascer. Giuseppe e Naboleone debruçaram-se no assento de trás, contemplando Ajaccio, um
aglomerado irregular de casas junto ao mar azul, a afastar-se, até que a carruagem atingiu o topo do monte, e a terra natal deles deixou de ser visível. O cocheiro dirigiu-se
para a estrada militar que atravessava o coração da ilha, construída pelos franceses nos primeiros tempos de ocupação da Córsega. O itinerário percorria os montes e passava
por pequenas aldeias, algumas das quais ainda estavam em ruínas, após terem sido reduzidas a cinzas por soldados franceses em ataques de represália. Nos pontos-chave da estrada,
havia pequenos postos avançados fortificados, prova de que pelo menos alguns paolistas ainda mantinham viva a causa da independência da Córsega.
Quando atravessaram a ponte em Ponte Nuovo, memórias esbatidas regressaram à mente de Letizia, recordando-lhe a investida dos bravos cor-
sos contra as ordenadas linhas brancas de soldados franceses. Tinha sido ali mesmo, entre a colina que descia para o ribeiro em cascata e os pilares da ponte. Agora, a pastagem
de Inverno alimentava algumas cabras, enquanto
o pastor aquecia as mãos numa pequena fogueira. Fora ali que ela tinha ficado com outras mulheres e respectivas crianças, quando os primeiros terríveis disparos reduziram
as fileiras de maridos, filhos e amantes a farrapos ensanguentados. Rajadas atrás de rajadas tinham ecoado naqueles montes circundantes, abafando os gritos e o choro dos feridos.
Quando, por fim, o tiroteio terminou, por entre o fumo da pólvora, ouviram-se lamentos de medo e pânico. Baças silhuetas de homens surgiram, movendo-se com rapidez pela encosta
acima, fugindo para salvar as vidas. Aos gritos deles sucederam-se os das mulheres e crianças junto de Letizia, e foi com o medo a dilacerar-lhe as entranhas que ela esperou
pelo regresso de Carlos. Graças a Deus que ele se encontrava entre os homens que escaparam à carnificina de Ponte Nuovo. Mas já não era o mesmo Carlos: a tremer, de olhos
esbugalhados e salpicado com o sangue dos camaradas. Tinha sido ali que a nação corsa tinha morrido. Letizia estremeceu.
Giuseppe sentiu o estremecimento no assento ao pé dele e pegou-lhe na mão.
- Mãezinha?
- Não é nada. Estou com frio. Dá-me um abraço, vá.
Bastia mudara muito desde a última vez que ela lá estivera em visita. Já nessa altura parecia um porto mais italiano do que corso, mas agora a marca do poder francês estava
em todo o lado: nos soldados em licença que se apinhavam nas ruas, nos navios de guerra franceses atracados e até nos nomes inscritos nas tabuletas por cima das lojas, no
centro da cidade.
Letizia dirigiu-se ao endereço do agente de navegação que Carlos lhe indicara e reservou duas passagens para os filhos num cargueiro que partiria para Marselha no dia seguinte.
Depois alugou um quarto numa estalagem próxima do porto e solicitou ao cocheiro que descarregasse as malas, antes de o dispensar à noite.
Embora fosse Inverno, o porto estava movimentado e levou um bocado até encontrarem o navio certo. Toda a carga já se encontrava a bordo, e os poucos passageiros que faltavam
estavam a entrar com as bagagens, quando Letizia e os filhos embarcaram e se deslocaram pelo convés com cuidado. Atrás deles, os bagageiros carregados com as malas, seguindo
as indicações de um marinheiro, dirigiam-se para a acanhada zona de passageiros, em baixo. O capitão verificou se os nomes dos rapazes se encontravam no manifesto e voltou-se
para Letizia.
- Vamos zarpar muito em breve, minha senhora. Muito agradecia que se despedissem sem demoras.
Ela assentiu e agachou-se, abrindo os braços. Os dois rapazes mergulharam no abraço materno, e ela conseguia sentir os soluços do choro de
ambos a atravessar as fazendas dos casacos.
- Pronto. Já passou - conseguiu balbuciar. Sentia-se mais infeliz
por dentro do que alguma vez se sentira na vida e, mesmo agora, nada mais desejava do que pegar neles, dar meia volta e regressar a casa.
- Mãe - Naboleone murmurou-lhe ao ouvido -, mãezinha, por
favor, não quero ir, não quero deixar-te. - Apertou o braço à volta do ombro dela. - Por favor!
Ela não conseguiu responder. Sentiu um insuportável aperto na garganta e cerrou as pestanas às primeiras lágrimas. A pouca distância, o capitão
fitou-a por alguns instantes, virando-se depois para o mar, de modo a consentir-lhe um derradeiro momento de privacidade antes da separação. Letizia engoliu em seco e esforçou-se
por assumir uma expressão calma. Foi abrindo os
braços e soltando os filhos, afastando-se o suficiente para ficarem cara a cara.
- Bem, Naboleone, tens de ser corajoso. Têm de ter coragem, os dois.
- Isto é para vosso bem, logo verão. Não te esqueças de escrever, sempre que ( puderes. Agora, limpa esses olhos.
Deu-lhe um lenço, que ele amarfanhou na cara.
- Pronto... Está na hora.
Ela ergueu-se, e ambos os rapazes agarraram-na pela cintura. O capitão atravessou o convés em direcção a ela e indicou a passadeira.
- Minha senhora, tenho muita pena, mas...
Ela anuiu e gentilmente afastou-se de Giuseppe e Naboleone. Ainda a
agarraram por instantes, antes de o capitão pôr as mãos nos ombros dos dois:
- Vamos, rapazes, a vossa mãe tem de se ir embora agora. Ela precisa que vocês sejam corajosos. Não a desiludam.
Ambos deixaram cair os braços com relutância e permaneceram imóveis, lutando contra as lágrimas. Letizia inclinou-se e beijou a cabeça de Giuseppe. Voltou-se depois para Naboleone
e sussurrou-lhe ternamente ao ouvido:
- Coraggio!
Capítulo 10
Irlanda, 1776
A abadia situava-se numa elevação com vista para o rio Boyne. Por trás do rio, ficavam as ruínas monumentais do castelo de Trim. As muralhas e as
torres estavam rodeadas por um fosso e ainda impressionavam Arthur de tão formidáveis que eram, à medida que as contemplava da janela da carruagem. Em seguida, o castelo desapareceu
de vista, quando a carruagem transpôs o portão da abadia e entrou no pátio.
A primeira impressão que teve daquele lugar austero foi a de que parecia uma prisão, e sentiu o coração apertado com saudades do lar e da família. A sensação tornou-se mais
forte, quando O'Shea descarregou a arca contendo roupas, livros e outros dos seus parcos pertences, e deu meia volta com a carruagem, saindo pelo portão. O'Shea foi-se embora,
e o som das rodas percorrendo a gravilha depressa esmoreceu. Arthur encontrou-se sozinho junto da entrada principal. Tudo estava imóvel, mas não em total silêncio. Algures
dentro da abadia, um coro de vozes conjugava um verbo em latim.
- Ó caloiro! - chamou uma voz.
Arthur voltou-se e viu um rapaz pouco mais velho do que ele, que atravessava o pátio, vindo de um dos edifícios laterais. Tinha um grande tufo de cabelo negro e constituição
robusta. Arthur engoliu em seco, muito nervoso.
- Eu, senhor?
O rapaz parou e olhou em volta do pátio, com elaborada concentração.
- Parece que não está aqui mais ninguém a quem eu possa dirigir as minhas observações. Idiota!
Arthur abriu a boca para protestar, mas perdeu a coragem e, em vez disso, corou. O outro rapaz deu uma gargalhada.
- Não te preocupes. Deves ser o Wesley.
- Sim... sou, sim, senhor.
- Eu não sou "senhor". Chamo-me Crosbie. Richard Crosbie. Fui encarregado de tratar de ti. Anda, eu dou-te uma ajuda com a arca.
Agarraram nas pegas nas extremidades da arca e conseguiram levantá-la, com algum esforço.
- Por aqui - resmungou Richard.
Transportaram a arca através do pátio, passaram um arco de pedra e entraram num claustro. Ao fundo, um curto lance de escadas dava acesso ao dormitório de tecto baixo.
- Esta é a tua cama.
O rapaz mais velho pousou a arca no chão, em frente de uma cama simples, que pareceu surpreendentemente espaçosa a Arthur.
- Vais dividi-la com o Piers Westlake. Esse lado é o teu. A arca fica aí debaixo.
Arthur olhou espantado para a cama.
- Dividir a cama?
- Com certeza. Isto não é um palácio. É uma escola.
- Todas as escolas são assim? - perguntou Arthur em voz baixa.
- Como queres que eu saiba? - Richard encolheu os ombros. - Nunca estive noutro sítio. O reitor quer falar contigo agora. Eu indico-te onde é. Vem.
Levou Arthur até um corredor curto e pouco iluminado, que terminava numa maciça porta de carvalho com adornos.
- É ali - murmurou Richard. - Bate à porta. Ele está à tua espera.
- Como é que ele é? - sussurrou Arthur.
- O velho Harcourt? - Richard sorriu trocista. - Come caloiros ao pequeno-almoço. Vemo-nos mais tarde, se sobreviveres.
Richard virou-se e afastou-se apressado, deixando Arthur parado junto à enorme porta. Sentiu que a mão lhe tremia, quando a ergueu na direcção da madeira escura. Deteve-se
então. Tinha medo e estava só. Nesse momento, teve vontade de dar meia volta e fugir. Depois, sentiu-se mais decidido, inclinou-se e bateu duas vezes na porta.
- Entre!
Arthur respirou fundo para controlar os nervos, ergueu a tranca e empurrou a porta ligeiramente, estreitando-se entre a parede e a espessa borda da porta. Lá dentro havia
uma sala grande, iluminada pela luz que entrava pela janela, no alto de uma das paredes. A lareira era rústica, e no chão nada cobria o empedrado gasto. A sala era dominada
por uma enorme secretária e, atrás dela, sentada numa poltrona, encontrava-se uma figura imponente, vestida de sotaina negra. O rosto era largo e avermelhado, e os seus olhos
escuros examinavam o recém-chegado por debaixo de grossas sobrancelhas desordenadas.
- És o Wesley?
Arthur acenou com a cabeça afirmativamente.
- Fala, rapaz!
- Sim, senhor. Sou o Arthur Wesley.
- Assim é que é - anuiu o padre Harcourt.
Olhou o rapaz de alto a baixo, não mostrando sinal algum de aprovação. Em seguida, dirigiu a atenção para uma carta, que se encontrava aberta em cima da secretária.
- Parece que os teus pais estão preocupados com os teus poucos progressos académicos. Bem, depressa iremos compor isso. Há alguma coisa em que sejas bom, jovem Wesley?
- Por favor, senhor. Eu sei ler música e estou a aprender a tocar violino.
- Ah, sim? Que simpático. Só que isso aqui de nada te serve. Isto é
uma escola, meu rapaz, não é um salão de concertos. Deves empenhar os teus esforços em aprender o que te tentaremos ensinar nos próximos anos.
- Anos? - perguntou Arthur, desesperado.
O padre Harcourt sorriu friamente.
- Claro. Quanto tempo imaginas que levam rapazes como tu a chegar a um nível aceitável de competência em todas as matérias essenciais?
Arthur não tinha a menor ideia, nem sequer conseguia imaginar; portanto, optou por encolher os ombros.
- A resposta depende de quão diligentemente te aplicares nos estudos, jovem Wesley. Trabalha muito, sê obediente e vais sair-te bem. Se falhares, as consequências serão castigos
corporais. Percebido?
Arthur estremeceu e assentiu.
- Sim, senhor.
- Estas são as regras mais importantes aqui. As outras, logo irás aprendendo. Agora deves aguardar no salão principal. Está quase na hora de almoço. Irás juntar-te à turma
do professor O'Hare. Já lá irei, para lhe indicar quem tu és. E agora podes ir.
Arthur anuiu e dirigiu-se para a porta.
- Jovem!
Arthur virou-se de repente e viu o padre Harcourt a apontar-lhe um
dedo.
- Quando um membro da instituição te der uma ordem, respondes "sim, senhor", ou sujeitas-te às consequências.
- Sim, senhor.
- Assim é que é. Agora vai.
- Sim, senhor.
Os primeiros dias na abadia foram os mais difíceis da vida de Arthur. No início, nenhum dos rapazes falava com ele, excepto Richard Crosbie, e mesmo ele parecia gostar imenso
de lhe dar indicações erradas sobre a escola e as suas regras. Rapidamente, Arthur aprendeu que não podia confiar em ninguém e resguardou-se numa solidão silenciosa, como
meio de evitar sarilhos e de não atrair a atenção dos rapazes com tendências violentas. Porém, sendo caloiro, era o primeiro objecto do interesse deles e foi vítima de todo
o tipo de partidas e atitudes maldosas.
Todos os dias se levantavam ao amanhecer. Lavavam-se na água fria dos poços da abadia e vestiam-se em seguida com a roupa que usavam durante todo o dia. As refeições eram
servidas no salão, compostas por uma dieta regular de papas de aveia, sopa, carne salgada e legumes cozidos, servidos com um naco de pão. Comiam em silêncio, enquanto os professores,
lentamente, patrulhavam o refeitório empunhando cãnas curtas, prontos
para delas fazerem devido uso em qualquer rapaz que falasse ou infringisse quaisquer outras regras de precedência e propriedade, no respeitante ao modo como escolhiam os lugares,
ou se levantavam para ir buscar a comida.
As lições eram dadas nas celas em torno do quadrângulo do claustro, vinte rapazes em cada sala, sentados em bancos, inclinados sobre tampos de mesa muito gastos, em contenda
com ditados, aritmética, exercícios de leitura e rudimentos de latim e grego. O falhanço em qualquer tarefa exigida pelos professores era recompensado com vergastadas de cana
na parte de trás das pernas ou nas palmas das mãos. Da primeira vez, Arthur ainda gritou, mas recebeu três vergastadas extra por não saber controlar a dor. Depressa aprendeu
a cerrar os dentes com toda a força e a fixar a vista num ponto da parede ao fundo, por cima do ombro do professor, de forma a concentrar-se e a restringir a agonia. Não obstante
ter incentivos como estes para se esmerar nas tarefas que lhe eram destinadas, Arthur permaneceu um estudante mediano, com dificuldades em todas as matérias. Com uma infelicidade
atrás da outra, o desejo de regressar a casa tornava-se cada vez mais intenso, passando de meras saudades a uma espécie de sombrio desespero, que naquela existência cruel
e dura não teria fim.
Nas tardes de quartas e sábados, os alunos podiam sair da propriedade, e Arthur ia direito à ponte sobre o Boyne para explorar as ruínas do castelo de Trim. Repetidas vezes,
pequenos grupos de rapazes ali brincavam aos cavaleiros medievais, investindo uns contra os outros com espadas e lanças a fingir, evitando desferir golpes no último instante,
de modo a não se magoarem, mas imaginando nas suas mentes que estavam a estraçalhar o inimigo, membro a membro. Quando havia competições destas, calmamente, Arthur afastava-se
da refrega e observava a partir de um esconderijo, numa muralha coberta de musgo ou num arco em derrocada. Não era apenas a perspectiva da dor que o fazia afastar-se; era
a selvajaria no rosto dos seus pares, o gosto da violência estampado nas suas faces. Assustava-o ver a facilidade com que a brincadeira ultrapassava uma mal definida fronteira,
transformando-se em pura agressão.
Perto do final do primeiro período, chegou uma encomenda de casa. Era um violino, dentro de uma caixa finamente decorada, a que o pai juntara uma breve mensagem:
Meu querido Arthur,
Como demonstraste tanto génio com este instrumento aqui em casa, seria uma grande pena não continuares com as lições. Envio-te o violino que me deram quando tinha a tua idade.
Pode parecer-te grande para o teu tamanho por agora, mas isso não
durará muito. Informei-me e soube de um professor competente perto de Trim - um tal senhor Buckleby - e combinei com o padre Harcourt para que possas ir a Trim ter uma aula
particular com ele, uma vez por semana. Gostarei muito de saber dos teus progressos, quando regressares a Dangan.
O teu pai que te ama
P.S. Por favor, tem especial cuidado com o violino.
Assim, aos sábados, Arthur saía da abadia e ia a pé até Trim, com a enorme caixa do violino debaixo do braço. O senhor Buckleby vivia num dos extremos da cidade, numa casa
rústica de pedra e telhado de lousa. Arthur não teve dificuldade em encontrá-la, logo na primeira visita. Preparando-se para o pior, ergueu o batente de ferro e bateu à porta.
Esta abriu-se de repente, com tal rapidez que ele deu um passo atrás com o susto.
Um homem alto, de fato castanho, encontrava-se na entrada da casa. As suas meias, outrora brancas, eram agora acinzentadas e pendiam sobre as fivelas de pechisbeque dos seus
disformes sapatos. Usava uma peruca com pó de talco, assente num ângulo por cima dos maxilares enrugados, e óculos, através dos quais os seus olhos castanhos-escuros escrutinavam
o rapaz.
- Vi que te dirigias para aqui. Em que te posso ajudar, meu jovem?
- Bom-dia, senhor - disse Arthur, sereno. - Procuro o senhor Buckleby.
- Sou o doutor Silas Buckleby, às vossas ordens. Deves ser o jovem Wesley, o filho de Garrett. Entra, entra.
Ele afastou-se um pouco, e Arthur esgueirou-se para a entrada. O espaço era pequeno e cheio de prateleiras com resmas de partituras, soltas e encadernadas. Encostados às paredes,
havia diversos instrumentos musicais em níveis diferentes de reparação. As partículas de poeira, que brilhavam na larga coluna de luz que penetrava pela porta aberta, desapareceram
abruptamente quando o doutor Buckleby fechou a porta com um estrondo e se virou e gesticulou na direcção de outra porta, ao fundo da entrada.
- Por ali, jovem senhor. Temos de começar quanto antes.
Passou-lhe à frente e empurrou a porta, indicando a Arthur para entrar. A sala adjacente contrastava radicalmente com a entrada. Estava quase vazia, tirando uma única cadeira
e duas estantes de música. Uma janela metálica deixava ver um pequeno jardim congestionado, e nas restantes três paredes, estavam penduradas tapeçarias muito gastas. Retratavam
cenas baseadas em mitos antigos, e o olhar de Arthur foi espicaçado pelos pormenores de um bacanal. Os olhos perspicazes do doutor Buckleby notaram a expressão do rapaz.
- As tapeçarias estão penduradas por motivos acústicos apenas.
Tenta ignorá-las.
- Sim, senhor.
- A qualidade de alguns dos meus alunos é tal, que me vejo obrigado a abafar os guinchos dos seus atormentados instrumentos musicais, tanto quanto posso, ou ainda enlouqueço.
Sorriu, ao deixar cair a sua portentosa figura sobre a cadeira, que rangeu em sinal de protesto.
- Ora bem, jovem Arthur, sabes quem sou eu?
- Não, senhor. - Arthur mordeu o lábio. - Lamento muito, senhor.
O doutor Buckleby fez um gesto de compreensão.
- Não faz mal. Eu digo-te. Eu sou o homem que ensinou o teu pai a tocar violino. Ele é muito talentoso. E tem tido muito êxito. Ouvi dizer que é professor de música na universidade,
em Trinity.
- É sim, senhor.
- Ora bem, temos então de manter a tradição familiar. - Estendeu as mãos. - Mostra-me o que consegues fazer com esse teu instrumento.
Com os conhecimentos que o pai lhe tinha transmitido, Arthur logo provou ser um aluno excelente, com talento natural. Pela sua parte, o doutor Buckleby era um óptimo professor,
que aproveitava o melhor da sensibilidade daquela criança, persuadindo-a com mão firme e modos gentis. Em pouco tempo, nada havia que Arthur mais desejasse do que as suas
lições semanais, em Trim.
Em contraste, a vida na escola tornou-se quase insuportável, devido aos poucos confortos e às duras disciplinas que tinha. Quando o Inverno substituiu o Outono, as frias paredes
de pedra da abadia ficavam húmidas todas as manhãs e geladas rajadas de vento penetravam pelas frestas das janelas e portas. Encolhido debaixo dos cobertores partilhados,
Arthur tremia de frio a noite inteira e levantava-se já cansado para enfrentar a dura rotina, dia após dia. E embora os seus conhecimentos de matemática fossem aceitáveis,
continuava a não ter qualquer aptidão para os clássicos, para frustração e, depois, fúria dos professores. Quanto mais pressionado e castigado pela falta de rendimento era,
mais infeliz e introvertido se tornava, ao ponto de até o doutor Buckleby ter eventualmente comentado o assunto.
- Arthur, a tua cabeça não está onde devia estar. Tocaste essa última secção como se estivesses a tecer num tear.
- Desculpe, senhor - balbuciou Arthur.
O doutor Buckleby reparou que o lábio do rapaz tremia. Inclinou-se e gentilmente tirou-lhe o violino e o arco das mãos.
- Diz-me o que te preocupa, rapaz.
Arthur ficou em silêncio por instantes:
- Eu... odeio a escola. Quero voltar para casa.
- Todos odiamos a escola por vezes, meu rapaz. Até eu odiei. Faz parte do crescimento. É o que nos treina para sabermos lidar com as agruras da vida, mais tarde.
- Mas eu já não aguento mais! - Arthur lançou um olhar de desafio.
- Às vezes... só quero mesmo é morrer.
- Que disparate! Porque haveria alguém de querer isso? - O doutor Buckleby sorriu. - É difícil, mas tu vais habituar-te. Acredita em mim.
- Não vou, não. Não presto para nada. - Arthur fungou. - Não tenho amigos, sou péssimo nos desportos, não sou esperto como os meus irmãos. Não sou nada esperto mesmo - concluiu,
infeliz. - Não é justo.
- Arthur, cada qual tem o seu próprio tempo de aprendizagem. Algumas competências levam mais tempo, exigem mais aplicação. Há coisas que aprendemos mais depressa do que outras.
A tua habilidade com o violino, por exemplo. És como o teu pai. Possuis um dom raro. Devias estar feliz por isso.
Arthur ergueu os olhos para ele.
- Mas é apenas um instrumento. Não vale nada no mundo.
O doutor Buckleby franziu o sobrolho, e de imediato Arthur apercebeu-se de que o tinha ofendido muito. Sentiu vergonha de poder ter magoado os sentimentos daquele homem que
vivia para a música. Era uma tentação render-se à musa, dedicar-se inteiramente à música. Com o tempo receberia algum reconhecimento pela sua mestria. Mas aonde o levaria
isso? Seria a recompensa acabar numa casinha de campo, em alguma cidade de província, a ganhar a vida dando lições aos filhos dos nobres da região? A perspectiva aterrorizava-o.
Ele queria mais da vida.
O doutor Buckleby suspirou.
- Será uma coisa assim tão terrível ser dotado para a música? Ser mestre na arte que, mais do que qualquer outra, nos distingue dos animais?
Arthur fitou-o com o coração pesado com o intolerável fardo do remorso, próprio da sua natureza honesta. Engoliu em seco.
- Não, senhor. Não é uma coisa terrível. É um dom, como diz.
- Ora, aí está. Vês? Nada está perdido. Muito longe disso. Vá, vamos continuar com a prática. Nos anos vindouros, haverá brindes ao grande Arthur Wesley - maestro!
Arthur forçou um sorriso. Talvez o professor tivesse razão. Talvez o destino o tivesse marcado para ter tal carreira. Talvez ele devesse aceitar isso. Um dia seria conhecido
pela sua música.
No fundo do coração, temia que fosse verdade.
Capítulo 11
No Natal, a família Wesley reuniu-se em Dangan. Anne ocupou-se do calendário social da temporada. Para além da grande festa, que teria lugar no salão, destinada aos pequenos
proprietários e às respectivas famílias residentes na propriedade, impunha-se fazer a ronda de visitas aos castelos e casas senhoriais de amigos e parentes. Tinha de encomendar
comida e bebida, os quartos de hóspedes tinham de ser limpos e preparados, as roupas tinham de ser escolhidas e emaladas e pessoal temporário tinha de ser requisitado para
a época festiva. Inevitavelmente, devido à falta de serviçais ingleses, tinham de ser contratados na comunidade irlandesa. A perspectiva de ter aquelas feições grosseiras
e rabugentas à sua volta indispunha-a um pouco. O linguarejar deles era quase incompreensível, a postura deixava muito a desejar, e ela considerava-os pouco mais do que bestas
de carga.
Enquanto elaborava ansiosa os seus planos no escritório, conseguia ouvir Garrett na sala de música, a trabalhar na composição de uma peça para o pequeno concerto que ele insistira
em incluir na grande festa. De tantos em tantos minutos, uns acordes da melodia eram tocados no piano forte, seguidos de exclamações de apreensão ou de surpresa e do raspar
da pena no papel, e, depois, de nova tentativa nas teclas do piano. Isto, Anne sabia-o bem, podia durar vários dias, e não era a primeira vez que desejava que o marido não
fosse tão dotado para a música. Se ele fosse escritor, isso sim, seria muito menos incomodativo para a família. Afinal, as despesas dos escritores resumiam-se às penas e ao
papel. Um compositor (como ele se autodenominava, desde que aceitara a docência em Trinity) gastava uma quantia variável de dinheiro em instrumentos, já para não falar no
facto de ter de subsidiar os concertos que dava para apresentar novas composições. Se ao menos Garrett pudesse ganhar dinheiro com o seu talento, pensava ela. Mas isso nunca
ocorreria. A música era o grande amor da vida dele, a sua verdadeira amante, que ele continuaria a mimar até morrer. Ou até que a fortuna da família o permitisse.
As finanças da família, como as de tantas outras de prestígio na Irlanda, encontravam-se debilitadas. Embora o rendimento das terras fosse estável, as rendas elevadas, falências
e despejos estavam a causar distúrbios consideráveis por todo o país. Alguns agentes das propriedades tinham sido assassinados no último mês, e a primeira onda de proprietários
começara a abandonar a ilha, procurando maior segurança em Inglaterra. Em consequência, o preço das terras desceu. Pior ainda, reflectia Anne, a instabilidade crescente nas
colónias americanas estava a abalar a confiança dos mercados financeiros de Londres. Garrett tinha recebido várias cartas
preocupantes do banqueiro da família na capital, avisando-o de que a totalidade dos investimentos da família Wesley tinha tido uma queda abrupta de rendimento, e Anne sabia
que precisava de reduzir as despesas da casa, de modo a não exceder o orçamento. Era tudo muito frustrante. Entre os revoltados camponeses irlandeses e aqueles loucos desleais
nas colónias, eles estavam a dar cabo da vida dos seus melhores. Anne franziu o sobrolho. Que direito tinham eles de o fazer? De pôr em causa o futuro dela e dos seus filhos
inocentes?
Este pensamento atraiu a sua atenção para o som abafado de gritos e risos, que lhe chegava do salão. Como o tempo estava frio e húmido, tinha dado autorização às crianças
para que ali brincassem. A mesa do pequeno-almoço fora afastada para um dos lados, uma rede fora instalada, e as crianças jogavam com raquetes o jogo do volante1. Estariam
ocupados por algumas horas, no mínimo, suspirou ela, regressando à sua planificação, enquanto a chuva batia contra as vidraças da janela.
Richard ficou parado, de cabeça inclinada para trás, a seguir no ar a trajectória do volante, vendo-o a atingir o vértice e a cair na sua direcção. Do outro lado, o pequeno
Arthur limitara-se a baixar a raquete, em sinal de aceitação da derrota inevitável. Por um breve instante, Richard ainda considerou falhar o tiro de resposta e deixar que
o irmão ganhasse um ponto, para que a derrota não fosse tão amarga. Só que, antes que pudesse decidir, moveu a raquete com grande precisão, atirando o volante para o chão,
do outro lado da rede.
- Jogo! - gritou Richard. - Venha o próximo!
- Sou eu!
A pequena Anne deu um pulo, correu pelo salão fora e arrancou a raquete das mãos de Arthur, quando ele se dirigia às cadeiras da mesa de jantar, onde estavam sentadas as outras
crianças. Um diminuto quadro de ardósia, pertencente ao quarto das crianças, fora encostado à última cadeira da fila. Gerald marcava a giz mais uma vitória de Richard. À frente
do nome de Arthur não havia marca alguma. Até Gerald, um ano mais novo, tinha ganhado dois jogos. Arthur sentou-se na cadeira mais afastada, abatido e de ombros descaídos.
Arthur olhava para o irmão mais velho com inveja. Richard era melhor do que ele, e Arthur sabia que tinha de tentar aceitar isso. Era o que o destino tinha reservado para
os irmãos Wesley. Richard era muito mais inteligente, muito mais popular e, sem dúvida, viria a ter uma carreira brilhante, enquanto que Arthur permaneceria uma folha ignorada
1 - Trata-se do jogo que deu origem ao badmington. O volante era constituído por uma pequena bola de cortiça com penas embutidas. (N. da T.)
na árvore genealógica da família.
- Preciso de descansar - anunciou Richard. - William, tu e o Gerald podem jogar.
Richard fez uma pausa, antes de se sentar ao lado de Arthur.
- Não estás a amuar, espero.
- E porque havia eu de amuar?
Richard encolheu os ombros:
- Não podemos ser bons em tudo, Arthur.
- Ah, vieste oferecer-me a tua piedade.
Richard não pôde deixar de sorrir.
- Sabes que é sinal de má educação sentares-te aí a tentar envenenar o ambiente. A tentar arruinar o divertimento que os outros têm com o jogo. Todos temos de aceitar a derrota,
uma vez por outra, Arthur.
- Uma vez por outra? Ou será sempre? Tenho a certeza que ficaria muito satisfeito se só tivesse de aceitar a derrota de vez em quando. Mas, claro que tu não entendes isso.
Nem o William, nem sequer o Gerald. Vocês são todos tão espertos, tão seguros de si. Não são como eu.
- Vá lá, isso não é verdade. Eu sei muito bem que o pai te considera um prodígio musical. E tu devias saber o que isso significa para ele. Não podes passar a vida a sentir
pena de ti próprio. Seria uma perda criminosa de todo e qualquer talento que possas ter. Eu sei que tens dificuldades nos estudos, mas nem todos têm queda para o latim e o
grego.
- Tu tens - ripostou Arthur. - E o William e o Gerald.
- É verdade - concedeu Richard. - Aquilo que para nós é fácil, para ti é difícil. Eu percebo como isso deve ser duro de aceitar.
- Percebes? Percebes mesmo?
- Acho que sim. Posso ter uma inteligência acima da média, mas não é à custa da empatia.
- Quando fores o grande estadista ou o brilhante general que sei que virás a ser, logo veremos a qualidade da tua empatia.
Richard reflectiu um momento antes de responder.
- Não nego que o meu sonho é ter um cargo importante e que tudo farei, no que estiver ao meu alcance, para lá chegar. Mas não vejo razão alguma para que tu não possas acalentar
ambições idênticas.
- Eu? - Arthur virou-se para ele, de sobrolho erguido e deu uma gargalhada. - Eu? Não sejas parvo, Richard. Eu sei que nunca conseguirei nada. Para quê tentar sequer? Para
quê perder o meu tempo a tentar chegar a um êxito que nunca vou ter?
- Estás enganado. É exactamente por isso que deves tentar chegar lá. Vamos supor, por um momento, que tu nunca me igualarás intelectualmente...
- Isso é fácil!
- Está calado! Suponhamos que é verdade. E que tu, um dia, chegas a esse alto cargo. Apenas com a tua vontade de ferro e trabalho árduo. Não achas que isso eclipsaria todos
os meus êxitos, eu, com todas as minhas vantagens naturais?
Arthur olhou espantado para o irmão por um instante, antes de baixar os olhos na direcção do regaço e de abanar a cabeça.
- Belas palavras, Richard, mas não passam de palavras. Posso ser um palerma, mas até eu sei que o mundo não funciona assim. Sou um filho mais novo de um aristocrata menor,
e aquilo que me falta em estatuto social agrava-se por não possuir talento que compense.
- Tens a tua música.
- Precisamente. Tenho a minha música. - Arthur levantou-se. - Agora, se não te importas, acho que a minha presença aqui é totalmente desnecessária. Vou para o meu quarto.
Para estar com a minha música. Mais vale que me vá habituando.
Deixou o salão, e o som dos seus passos rapidamente diminuiu com a distância, enquanto os irmãos mais velhos se entreolhavam, surpreendidos e divertidos.
- O que se passou aqui? - perguntou William.
- Nada.
Por um momento, Richard continuou a olhar para a porta por onde saíra o irmão, na expectativa de que Arthur mudasse de ideias. Mas não lhe chegava som algum de passos de regresso.
- Esquece! Ora bem, como está a pontuação?
Arthur sentiu lágrimas a acercarem-se dos cantos dos olhos, ao subir a grande escadaria. Olhou logo à volta e, como não havia ninguém à vista, limpou as lágrimas com as mãos.
No topo das escadas, de cada lado do patamar, um corredor percorria o comprimento da casa. Os quartos do lado esquerdo estavam a ser preparados para as visitas, e as vozes
abafadas dos criados ouviam-se pelo corredor fora. Arthur virou à direita, dirigindo-se para os aposentos da família. A porta da sala de música estava aberta, e a luz iluminava
o chão. Quando passava em frente dela, o pai, que ainda se encontrava ao pianoforte, viu-o.
- Arthur, não estás a jogar com os outros?
O rapaz abanou a cabeça.
Garrett olhou-o fixamente.
- Que se passa?
- Nada.
- Nada?
Arthur abanou de novo a cabeça e fez menção de prosseguir na direcção do seu quarto.
- Espera. Vem cá.
Garrett levantou-se e arrastou o banco até junto de uma cadeira, ao lado da estante de música.
- Preciso da tua ajuda.
- Da minha ajuda?
- Sim. Vem cá.
Lentamente, Arthur entrou na sala e juntou-se ao pai, que se ocupava agora com a escolha da pauta na estante.
- É esta. Esta mesmo. Estou a incluir no programa do nosso recital de Natal uma das peças que Buckleby te pediu para aprenderes. Lembrei-me que podíamos tocá-la em dueto.
- Um dueto? Eu?
Garrett deu uma gargalhada.
- Tu, claro que és tu. Por acaso achas que iria confiar naqueles teus irmãozinhos para uma coisa destas? Só têm polegares! Para além disso, acho que já vai sendo tempo de
o público conhecer o teu talento. Daí, tomei a liberdade de ir buscar o teu violino ao teu quarto. Está ali, em cima do sofá. E agora, meu jovem, dás-me a honra de me acompanhares
nesta peça?
Sorriu, e Arthur não pôde deixar de responder da mesma forma.
- Isso mesmo. Assim é que é. E agora, vamos a isto.
Arthur pegou no violino e no arco e colocou-se junto à estante de música, assumindo a postura correcta, sob o olhar aprovador do pai. Garrett sentou-se no banco, de modo a
ficar ao mesmo nível do filho e aprontou o instrumento. Respirou fundo, entreolharam-se, e Garrett pronunciou:
- Um... dois... três... - e acenou com a cabeça.
À medida que ia tocando, a mente de Arthur foi-se libertando de pensamentos e concentrando-se nos dedos, que se moviam com rapidez e precisão ao longo do braço do violino.
Na outra mão, os dedos controlavam o arco, produzindo movimentos perfeitamente calculados ao longo das quatro cordas. Tinha tocado a peça tantas vezes que a sabia de cor.
Fechou os olhos, com a cabeça plena de melodia. Não apenas a cabeça. O coração também se dilatava com as notas, ao espalhar-se a música no ar, até que o som se converteu num
sentimento, num estado de espírito, que o encheu de satisfação.
A peça chegou ao fim, e o arco deteve-se. Arthur abriu os olhos e deu com o pai a fitá-lo com surpresa e admiração.
- O Arthur, que beleza. Foi maravilhoso. Estou tão orgulhoso de ti.
Como que embaraçado com a sua franqueza, Garrett folheou as pautas na estante.
- Vamos tocar outra coisa?
- Se o pai quiser.
- Sim, sim, gostaria muito. Esta aqui. Que achas? Conheces?
Arthur assentiu.
- Estás pronto?
Começaram a tocar. Era uma peça alegre, desafiadora do ponto de vista técnico, mas bastante trivial no cômputo geral, que, no entanto, melhorou a disposição do rapaz. Enquanto
a tocava, sentia-se bem, ali na sala de música, a tocar com o pai, todo o tempo consciente do prazer e do orgulho que o seu talento musical proporcionava.
Era pena que não pudesse tocar música indefinidamente.
Capítulo 12
A época de Natal chegara ao fim, as festas tinham terminado e, de novo, Dangan tinha retomado à sua pacatez diária. Os três filhos mais velhos dos Wesley estavam atarefados
a fazer as malas que levariam para as respectivas escolas no período lectivo seguinte. Enquanto Richard e William alinhavam cópias muito usadas dos clássicos no fundo das
arcas, Arthur enchia o fundo da sua com partituras musicais, que o pai lhe emprestara.
Garrett estava deliciado com o progresso do filho. Buckleby obviamente não perdera o toque especial que tinha como professor. Arthur viria a ser um bom músico, era mais do
que certo, e o pai planeava já os desenvolvimentos futuros. Claro que a Irlanda era um palco demasiado pequeno para Garrett e sê-lo-ia também para Arthur nos anos vindouros.
Londres proporcionar-lhes-ia maiores oportunidades e público mais interessado. Melhor ainda seria Paris, ou até Viena. Garrett deixava-se levar pelas suas fantasias, com um
sorriso de comiseração. Fossem quais fossem os seus talentos e as promessas dos de Arthur, não podiam comparar-se ao talento genuíno e à virtuosidade técnica dos músicos de
Viena. De Londres, talvez, não de Viena.
E assim a semente ficou plantada, e após os rapazes terem regressado à escola, Garrett ficou livre para dar rédea solta à sua fantasia. Quanto mais pensava naquilo, mais tentadora
se tornava a perspectiva de se mudar para Londres. A violência que germinara na Irlanda piorava de dia para dia. Por um lado, o fardo sempre presente da exploração dos camponeses
pobres; por outro, às classes médias de católicos irlandeses estava barrado o acesso a todo o tipo de privilégios e cargos públicos. O ressentimento aumentava e era verbalizado,
pois os espezinhados atreviam-se já a denunciar em público as iniquidades da sociedade irlandesa. Houve prisões, mas o destino terrível do padre Sheehy, que fora enforcado,
arrastado e esquartejado dez
anos antes, por ter ousado ser a voz dos pobres, estava a perder o efeito dissuasor desejado. A paciência esgotara-se, e recorriam agora à violência, com o desejo de vingança
no coração. Os agentes das propriedades deslocavam-se escoltados por guardas armados, justamente temendo pelas suas vidas. Era apenas uma questão de tempo, concluía Garrett,
até que o espírito de revolta daqueles desgraçados irlandeses se convertesse em ataques assumidos contra a aristocracia.
Acrescia a frustração cada vez maior que sentia em relação ao incontornável provincianismo daquele local. Os miúdos já estavam a apanhar o sotaque que, com precisão, denunciaria
a sua origem, e Garrett tinha bem consciência de que, se este processo continuasse, a sua família seria desprezada pela sociedade londrina. E isso seria um fardo intolerável,
sobretudo para o jovem Arthur, que não possuía perspicácia nem sofisticação. Os rapazes beneficiariam de uma melhor educação, Anne teria uma vida social mais excitante, e
ele teria um número mais elevado de interessados nas suas composições. Com este feliz pensamento em mente, deu início à recolha de informações.
Embora fosse o pico do Inverno, a escola em Trim parecia a Arthur muito menos ameaçadora, quando regressou de Dangan. Embora tivesse poucos amigos, a maior parte dos rapazes
parecia satisfeita em vê-lo de novo, e ele sentiu o caloroso brilho da aceitação, de ter encontrado o seu lugar no pequeno universo da escola. Porém, apenas com o doutor Buckleby
ele se sentia à vontade para se expressar de forma mais aberta, e apenas ali, porque o que se passava entre eles estava afastado da escola o suficiente, não havendo hipótese
de que qualquer palavra das suas conversas lá chegasse. O professor de música (como todos os professores de música devem ser) provou ser um excelente ouvinte, sentado em silêncio,
a escutar as queixas desesperadas do jovem, de que nunca triunfaria nos estudos, nem atingiria nada digno de renome.
- Porque queres tanto ser aclamado, Arthur? - perguntou-lhe numa ocasião.
- Porquê? - Arthur abriu os olhos de espanto. - Que mais há na vida para além disso?
- Que queres dizer com isso, meu rapaz?
- Só tenho esta vida. Quando chegar ao fim, vou olhar para trás e perguntar a mim próprio o que consegui e quero ter uma resposta satisfatória.
- Não é isso que todos queremos? - sorriu o professor. - E a questão torna-se mais pertinente para um homem com a minha idade avançada.
- Compreendo. - Arthur olhou-o intencionalmente. - Como será a sua resposta, senhor?
- Pondo de lado a petulância juvenil de tal pergunta, posso dizer-te que fiz aquilo que para mim era mais importante. Cada vez que pego num instrumento, crio um momento de
ordem e beleza sublimes. Que maior êxito poderá um homem ter neste mundo?
Arthur franziu o sobrolho.
- Não entendo.
O doutor Buckleby suspirou.
- Tenho sangue plebeu, o que impede qualquer hipótese de deixar uma marca de importância no mundo. Perante isso, até onde pode chegar um homem como eu? O meu talento com o
violino foi, em tempos, o assunto do dia em Londres. Mas para que serviu isso? Não mudei o mundo. As únicas arenas onde é permitida à minha classe a exibição dos seus talentos
são a arte e a ciência. E porquê? Porque a primeira proporciona prazer aos governantes, e a última fornece alguns confortos e ferramentas de poder. Assim, retirei-me do mundo
e vim viver para aqui, para Trim, onde as minhas necessidades estão satisfeitas, e o meu êxito só a mim próprio diz respeito. Isto responde à tua pergunta?
Arthur pensou um pouco antes de responder:
- Não responde inteiramente. Como pode achar que um resultado vale a pena, se outros homens não acharem que assim é? E se estiver enganado? E se estiver iludido e pensar que
conseguiu alguma coisa que valha a pena, quando, de facto, não conseguiu? Como é que vai saber?
- Eu sei que consegui algo de grandioso com a minha música. E isso é tudo o que um homem com as minhas origens pode conseguir. - O doutor Buckleby deu-lhe uma palmada no ombro.
- É muito mais difícil para ti, Arthur, porque és aristocrata. Tens oportunidades que eu nunca tive. Podes escolher o teu caminho para a grandeza. Não tens de ser músico.
Embora, no final do dia, tenhas de prestar contas das tuas decisões. E depois terás de viver com a ansiedade permanente de poder ter tomado a decisão errada... Tudo o que
terás para aliviar essa ansiedade será o mundo dos outros homens. E agora, diz-me, estás ainda tão certo do valor de tal aclamação?
Arthur fitou o professor por instantes e reflectiu. Pela primeira vez, tinha uma noção nítida da personalidade do pai, dos motivos que o tinham levado a compor um universo
ordenado à sua volta, onde a fealdade e a discórdia estavam banidas. Olhou para baixo, para a bela madeira envernizada do seu violino, elevou-o até ao ombro e preparou o arco.
- Podemos continuar a lição agora, senhor?
O doutor Buckleby assentiu.
- Com todo o prazer.
Antes do final do período escolar, Arthur recebeu uma carta do pai, informando-o de que tinha encontrado uma casa para a família em Londres. A mãe estava muito ocupada com
a mudança de Dangan para a nova casa. Mal estivessem instalados na capital, iriam procurar novas escolas para os filhos e mandá-los-iam chamar então. Arthur ficou chocado
com a notícia, não sabendo muito bem o que pensar acerca dela. A perspectiva de viver em Londres era inegavelmente excitante. Mas isso significaria deixar de vez a casa e
os jardins de Dangan, locais que conhecera desde sempre e que sentia fazerem parte dele. Também deixaria a escola em Trim, o que também lamentava, dado que agora se sentia
confortável ali e seria forçado a repetir toda a agonizante experiência de entrar numa nova escola em Londres. Mas, pior do que isso tudo, a mudança significaria perder o
doutor Buckleby.
Arthur não falou no assunto e continuou a frequentar as aulas de violino, concentrando-se e melhorando a técnica ao máximo, até que chegou a hora de deixar Trim e rumar ao
distante mundo cosmopolita de Londres. Do lado do professor, este ficou espantado com a repentina e intensa concentração de Arthur; porém, o rápido progresso das aptidões
do estudante afastou a atenção do doutor Buckleby de qualquer coisa que pudesse não bater certa. Assim, nos poucos meses que faltavam, Arthur continuou a aprender, e o professor
continuou a deleitar-se com o seu progresso.
Até que um dia, Arthur apareceu na pequena casa de campo e bateu à porta. O som de passos pesados no lado de dentro anunciava a chegada do doutor Buckleby, que abriu a porta.
A ausência de expressão no rosto do homem denunciou de imediato ao aluno que algo não estava bem. Algo mudara. O professor conduziu-o à sala de música, sem proferir uma palavra,
e sentou-se pesadamente na cadeira, enquanto Arthur retirava o violino da caixa.
O doutor Buckleby tossiu.
- Como esta vai ser a nossa última lição, pensei que poderíamos tentar algo um pouco diferente.
Arthur sentiu o sangue a gelar nas veias.
- Como disse, senhor?
- A nossa última lição, Arthur. Sabes do que falo. Recebi ontem uma carta do teu pai, a agradecer-me por te ter ensinado e a acertar contas. Parece que em breve trocarás Trim
por Londres. É óbvio que tenho pena de perder um aluno tão promissor. Rapazes do teu calibre são raros e difíceis de encontrar.
- Eu... não vou esquecer o que me ensinou. Tudo o que me ensinou.
- Espero bem que não! Bem, vamos a isto...
O doutor Buckleby inclinou-se, retirou a pauta que Arthur tinha na estante e substituiu-a por outra:
- Tenta isto.
Os olhos de Arthur percorreram rapidamente a partitura, e depressa percebeu a dimensão do desafio que lhe era proposto. O dedilhado e o ritmo eram muito mais sofisticados
do que qualquer outra coisa a que ele estivesse habituado. No entanto, ele já lera peças de música em quantidade suficiente para conseguir captar o sentido melódico à primeira
leitura. O tom melancólico surpreendeu-o de imediato:
- Não estou a reconhecer a partitura.
- Não me admira. Vá, vamos lá ver como te entendes com ela.
Após uma hora de esforço contínuo, o professor cedeu, autorizando
o estudante a pousar o instrumento:
- Parece que ainda tens muito para aprender.
- É verdade, senhor. - Arthur sentiu que o desapontara.
- E o nosso tempo acabou. Arruma o violino.
Em silêncio, Arthur colocou o instrumento de novo na caixa, ao mesmo tempo que o doutor Buckleby retirava a partitura da estante e aguardava junto à porta da sala. Acompanhou
Arthur até à porta da rua e abriu-a. Arthur saiu da casa e depois, hesitante, voltou-se e ofereceu a mão ao professor.
- Então, até à vista, senhor.
- Adeus, jovem Wesley. - O professor apertou-lhe a mão. - Não te esqueças: costas direitas e pauta erguida.
- Sim, senhor.
- E... isto é para ti.
O doutor Buckleby corou ao entregar a nova partitura ao seu aluno. Arthur agradeceu-a com uma inclinação de cabeça.
- É muita amabilidade da sua parte. Posso saber quem a escreveu, senhor?
- Fui eu - sorriu o professor. - Escrevi-a para ti. Talvez um dia, quando a conseguires tocar, possas vir até cá e tocá-la para mim.
O coração de Arthur apertava-se com a gratidão que sentia pela simpatia do homem:
- Não sei o que dizer.
- Assim sendo, despeço-me eu, senhor. Tenho de me preparar para o meu próximo aluno.
Ambos sabiam que não era verdade. Não haveria mais lições naquele dia. Arthur despediu-se e seguiu pelo caminho abaixo, ouvindo atrás de si o som da porta a ser fechada lentamente.
Capítulo 13
França, 1779
A escola em Autun era uma instituição muito maior do que o estabelecimento do abade Rocco em Ajaccio. Giuseppe e Naboleone olharam para o edifício com um misto de espanto
e medo, quando entraram pelo portão, seguidos do bagageiro que carregava as arcas de ambos. Ele indicou-lhes a sala do pessoal, situada num dos lados do imponente hall de
entrada.
Naboleone avançou para a porta e bateu com veemência na madeira envernizada. A porta abriu-se, e o rapaz foi confrontado por um homem alto, com ar severo, vestido de fato
e meias escuras.
- Sim?
- Sou Naboleone Buona Parte - disse no seu melhor francês. - Este é o meu irmão Giuseppe.
O homem torceu o nariz ao sotaque agreste.
- Queira desculpar?
Naboleone repetiu a sua apresentação, e o homem pareceu compreender mais um pouco nessa segunda tentativa. Voltou-se para o interior da sala.
- Monsieur Chardon? Penso que são os dois rapazes que esperava. Da Córsega?
- Sim - assentiu Naboleone. - Da Córsega.
O homem afastou-se, dando lugar a um outro, encorpado, de batina, que sorria para os miúdos.
- Bem-vindos a Autun. O meu nome é abade Chardon. - Percorreu os dois com o olhar, detendo-se no mais pequeno e mais moreno. - Tu deves ser, deixa-me ver... sim, já sei, Napoleone.
- Naboleone, senhor.
- Bem, como o teu pai faz tanta questão em que a primeira prioridade seja pôr-vos a falar francês como os franceses, o melhor é começarmos já, pelos vossos nomes. Giuseppe
será José e tu, pequeno, causaste-me um problemazinho. - Sorriu com ternura. - O mais aproximado que encontrei foi Napoleão.
- Napoleão? - repetiu o rapaz. Não estava certo de desejar ter uma versão diferente do seu nome, mas logo o primeiro professor tinha tido problemas evidentes com o seu nome
corso, como, inevitavelmente, todos teriam na escola. Já bastava sentir-se deslocado à partida. Ergueu os olhos para o abade e encolheu os ombros. - Como queira, senhor. Serei
Napoleão.
- Óptimo! Está combinado. Agora, vou levar-vos ao dormitório.
Conduziu-os até à escadaria, que ficava nas traseiras da entrada, e subiram três lanços de escadas, chegando a um corredor que se estendia para ambos os lados, sob a extremidade
do telhado. Napoleão reparou nas camas alinhadas que enchiam o local, cada uma com um baú aos pés.
- Por enquanto não está aqui ninguém - explicou o abade. - O resto dos rapazes encontra-se nas aulas até à hora do jantar. Terão oportunidade de os conhecer nessa altura.
Como a primeira tarefa é melhorar o vosso francês, decidimos colocar-vos em lados opostos do dormitório, cada um ao lado de um rapaz francês, para que possam corrigir o vosso
sotaque, que ainda é um bocadinho rude, se me é permitido dizê-lo.
Napoleão corou, mal ouviu isto; mas o irmão pegou-lhe na mão, e quando Napoleão olhou de soslaio para ele, José advertiu-o, abanando a cabeça.
O abade agitou uma das mãos.
- Logo que as vossas arcas cheguem, por favor, desfaçam as malas e regressem depois à sala do pessoal. Vou levar-vos até junto dos vossos professores e apresentar-vos aos
vossos colegas de turma.
- Sim, senhor - respondeu José. - Muito agradecidos, senhor.
O abade teve um sorriso breve, virou-se e caminhou com passos largos pelo corredor fora.
Quando ficaram de novo sozinhos, José voltou-se para o irmão mais
novo.
- Então? Que é que tu achas?
- Parece bastante confortável.
- Eu não estava a falar disso. Napoleão... não é? Até parece que és mesmo francês.
- Sim, eu sei - respondeu infeliz. - Napoleão... e José. Que diria a mãe, se me pudesse ouvir agora?
Capítulo 14
O abade Chardon estava de pé, no seu escritório, que dava para o terraço da escola, em Autun. Era o intervalo da manhã, e os rapazes brincavam na neve, lá fora. Protegidos
por casacos, cachecóis e luvas, divertiam-se a lutar com bolas de neve, como era costume. Gritos estridentes de excitação e surpresa enchiam o ar e eram claramente audíveis,
mesmo do lado de cá da vidraça da janela. Foi então que a sua atenção se fixou numa figura em pé, junto do portão principal da escola, e o sorriso esmoreceu. A postura firme
do rapaz distante era inconfundível: o pequeno Napoleão Buona Parte completamente sozinho, mais uma vez.
Já passara um mês, desde que os dois rapazes corsos tinham chegado
à escola, e enquanto José começava a adaptar-se e a fazer amigos, o miúdo mais novo mantinha-se resolutamente à parte e só se dava com o irmão e, mesmo assim, só quando este
não estava a brincar com os novos amigos. Para Chardon, era surpreendente que o rapaz mais velho parecesse tão tímido e em estado de óbvia adulação pelo irmão. Mas, era certo
que o rapaz mais novo tinha uma personalidade forte e destemida, como nunca antes encontrara. Não obstante ter vindo para Autun para aprender francês, e beneficiando talvez
da melhor educação que a Europa podia oferecer, o rapaz era corso por desafio e estava mais do que disposto a recorrer aos punhos ou a uma tirada aos gritos, se alguém impugnava
a sua terra natal. Atitude que, como seria de esperar, o tinha tornado no alvo principal de todos os rapazes predispostos a enervar ou a perseguir qualquer um dos seus pares
que se destacasse do resto.
Napoleão cruzou os braços, enfiando as mãos nos sovacos, de modo a conservá-las quentes. Estava imóvel há tempo suficiente para sentir os dedos dos pés dormentes e, por isso,
começou a caminhar devagar para cima e para baixo, em frente ao portão. Detestava aquela dormência gelada e a geada agarrada à cara e às roupas da cama, todos os dias, ao
levantar. Na Córsega, nessa altura do ano, o ar estaria frio, mas seco, e os ventos que sopram do Mediterrâneo manteriam os céus de Ajaccio limpos e azuis. As lembranças de
casa nunca andavam muito longe do seu pensamento, atormentando-o terrivelmente, em especial aquele derradeiro momento, antes de o navio zarpar do porto de Bastia. Quase podia
sentir o cheiro da mãe, o toque dela, o calor da sua respiração no ouvido dele, quando lhe sussurrou a sua última palavra de despedida.
Apertou as mãos e cerrou os lábios. Não iria ceder às saudades de casa. Ele não iria admitir ser considerado tão fraco e autoindulgente como outros eram.
Uma bola de neve acertou-lhe na parte de trás do pescoço, seguida de um coro de gritos de júbilo. Cessaram imediatamente, quando Napoleão se voltou de rompante, com os olhos
a deitar chispas e os punhos com luvas a avançarem para fora do recolhimento dos braços.
- Quem fez isto? - gritou. - Quem fez isto?
Alguém se riu da sua expressão feroz. Então, como uma torrente de água, o riso contagiou os rapazes que o fitavam, até sonoras gargalhadas ribombarem nos seus ouvidos.
- Quem é que o fez? - gritava.- Digam-me! Digam-me já, ou eu luto com vocês todos!
Mas o riso continuava; portanto, Napoleão carregou em frente, contra o grupo de rapazes mais próximo. De imediato, separaram-se e fugiram,
ainda a dar gargalhadas nervosas. Levantando flocos de neve com a velocidade, Napoleão correu atrás deles, mas era demasiado baixo e lento, e eles conseguiram manter a distância
com facilidade. Após mais uns tantos passos, ele parou e desistiu, respirando ofegante, enquanto lhes gritava.
- Venham cá e lutem! Cobardes! Cobardes! Cobardes...
- Napoleão!
Olhou para trás e viu o irmão a aproximar-se. José levantou a mão, com uma expressão preocupada no rosto.
- Napoleão, acalma-te... Por favor, tem calma.
Napoleão continuou ofegante, mas baixou os punhos e sentiu a tensão que lhe apertava o peito a começar a desaparecer, a sair do seu corpo como um veneno, deixando-o cheio
de frio e cansaço. José veio até junto dele e pôs um braço à volta dos ombros do irmão:
- Estás a tremer. Vem para dentro. Vamos para a sala das botas. Há lá uma lareira para te aqueceres. Anda.
Conduziu o irmão na direcção dos edifícios exteriores à escola, para longe dos rapazes do pátio. Alguns ainda gozaram, a ver se provocavam outra explosão de raiva, mas depressa
se desinteressaram, ao verem Napoleão a deixar-se levar pelo irmão. Eles entraram na sala das botas, e José fechou a porta. Prateleiras de madeira para botas ocupavam um dos
lados da sala, cada uma com o número do respectivo aluno. No lado oposto, flanqueando a lareira, havia filas de ganchos na parede. Era ali que secavam o calçado e as roupas
molhadas. A atmosfera estava quente e húmida e cheirava a bolor. José pegou em dois bancos, colocou-os em frente da grade em brasa e fez sentar o irmão:
- Faltaste ao pequeno-almoço. Deves ter fome. Toma. - José tirou um naco de pão de um bolso e um pedacinho de queijo do outro. E sorriu.
- Guardei isto para ti.
Napoleão olhou para as ofertas por instantes, antes de as aceitar, não sem relutância, com um aceno de agradecimento. Começou a comer, e depressa o apetite o dominou, devorando
esfomeado o queijo. José observou-o durante algum tempo e depois foi buscar um outro tronco de madeira à pilha e colocou-o em cima das brasas incandescentes do lado de dentro
da grade.
- Já te sentes melhor?
- Já. Obrigado.
- Para que servem afinal os irmãos? - brincou José. - É suposto eu tomar conta de ti.
- Eu sei tomar conta de mim.
- Pois sabes. Já reparei. Tens feito um bom trabalho...
Napoleão abriu-lhe os olhos, e o irmão não conseguiu evitar um ataque de riso, quando viu como lhe apontava o dedo.
- Agora não comeces com isso outra vez. Eu só estava a brincar.
A expressão selvagem, tão familiar em Napoleão, pairou nos seus olhos por mais uns instantes. Depois cedeu e virou o olhar para a fogueira, enquanto José prosseguia:
- Tens de deixar de reagir como um louco de cada vez que alguém te diz alguma coisa. Tens de controlar o teu génio. Eu pensava que querias ser um soldado.
- E quero.
- Bem, não podes perder a cabeça no meio de uma batalha. Tens de ter cabeça fria, especialmente se queres ser um oficial.
Napoleão considerou o assunto e, relutante, anuiu em concordância.
- Um dia aprenderei a controlar os meus sentimentos.
- Melhor é que aprendas quanto antes - respondeu José em voz
baixa.
O irmão fitou-o, cheio de curiosidade.
- Porque dizes isso?
- Porque vais deixar Autun no mês que vem. - José obrigou-se a
sorrir.
- De que estás tu a falar?
- O pai mandou-nos uma carta. Encontrei-a em cima da minha cama, no início do intervalo. Por isso vim à tua procura. E cheguei mesmo a tempo, segundo parece.
Napoleão endireitou as costas e estendeu a mão.
- Deixa-me ver a carta.
Os dedos ainda frios de José procuraram dentro do casaco por um momento, emergindo com uma folha de papel dobrado, com um selo de lacre partido. Passou-a a Napoleão, que abriu
a carta e começou a ler, seguindo com os olhos a teia de linhas manuscritas pelo pai.
- Brienne. - Levantou os olhos para o irmão e sorriu. - Um colégio militar.
- Exactamente o que tu querias.
- Pois... - O sorriso de Napoleão esmoreceu, regressou à carta e leu-a de novo muito rapidamente. - Ele não fala em ti.
- Pois não. - A voz de José vacilou. - Parece que vou ficar por
aqui.
- Não vamos juntos? Deve haver algum engano. Não nos podem separar. - Napoleão agarrou na mão do irmão. - Eu não quero ir sozinho.
A possibilidade inesperada de ficar tão longe de casa e da família, e agora também de lhe ser negada a presença reconfortante da companhia do irmão, enchia-o de temor.
- Não quero estar sozinho - repetiu em voz baixa.
José abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu dela no início. Como podia ele confortá-lo? Optou por tentar parecer persuasivo.
- Eu também não quero que te vás embora. Mas isto é para o teu bem. O pai quer dar-te a hipótese de vires a ser um soldado. Brienne é o lugar ideal para ti. Eu... bem, eu
vou ficar por aqui e estudar para ingressar na Igreja.
Napoleão sentiu um nó na garganta ao dobrar a carta, que devolveu ao irmão. Tossiu e tentou falar concentradamente.
- Vais escrever-me?
- Claro que sim!
José pôs o braço em volta do ombro do irmão mais uma vez e, desta feita, sentiu Napoleão a inclinar-se para ele. Em breve, acabara Napoleão de entender, não haveria conforto
humano que lhes aliviasse as saudades de casa, para nenhum deles. Cada qual teria de enfrentar o quotidiano como um estranho numa cultura estranha. Sentiu uma onda de ternura
pelo irmão mais velho e pegou-lhe na mão.
- Quero ir para casa.
- Eu sei. Eu também quero.
- E se escrevêssemos ao pai, talvez o pudéssemos convencer a levar-nos para casa?
José era corso o suficiente para se contrair face à perspectiva de ser considerado um pobre de espírito.
- Não, ele não autorizaria isso.
Napoleão lutou para conter as lágrimas. Sabia que o irmão falava verdade e sentiu-se dilacerado entre o ódio que a fria determinação do pai lhe inspirava e o desprezo amargo
que sentia por si próprio, por ser presa de emoções tão indignas. Se ao menos nunca tivessem saído de Ajaccio.
- José? Que vai ser de nós?
- Não faço ideia - respondeu muito infeliz o rapaz mais velho.
- Não sei mesmo.
Napoleão cerrou os olhos e murmurou:
- Tenho medo.
Carlos Buona Parte veio visitar os filhos no final de Abril. No início, pai e filhos ficaram radiantes por se reencontrarem. Depois, quando depressa se tornou visível como
José e Napoleão eram infelizes e quanto desejavam regressar a casa, a disposição de Carlos esfriou, tornando-se amarga e indiferente. Eram uns ingratos, dizia ele. Ingratos
em relação a todos os sacrifícios que ele e Letizia tinham feito, de modo a conseguir que os dois rapazes tivessem um futuro de que a família se orgulhasse. Dado que tudo
isso tinha sido feito para eles, o mínimo que eles podiam fazer era aproveitar o melhor
possível as oportunidades que lhes eram oferecidas.
Ali estavam os dois, à sua frente, cabisbaixos de vergonha e desespero. Por um instante, a determinação de Carlos vacilou, e pôs as mãos nos ombros dos filhos.
- Vamos lá. Não pode ser assim tão mau. - Forçou um sorriso. - Quando tinha a vossa idade, teria considerado isto uma aventura excitante. A hipótese de viajar, de ver mais
do mundo, de aprender com os melhores professores que há. Tu, em particular, Naboleone.
- Aqui chamam-me Napoleão - sussurrou o miúdo.
- Napoleão? - Carlos franziu a testa por um momento e encolheu os ombros em seguida. - Ora, porque não? Soa mais francês.
- Mas eu sou corso, pai.
- Claro que és. E deves ter orgulho nisso.
- E tenho! - replicou o rapaz com veemência.
- Está bem. Mas não deixes que isso se torne numa desculpa para que os outros impliquem contigo - acrescentou o pai com astúcia. - Falei com o abade Chardon, antes de vir
para aqui. Ele disse-me que tem havido uns... incidentes.
- Eles é que começaram! Mas eu fi-los pagar.
Carlos não conteve uma gargalhada.
- Estou certo disso. Enquanto corso, aplaudo o teu espírito. Mas enquanto pai, estou preocupado contigo. Não quero que te prejudiques. Portanto, comporta-te. - Carlos levantou
o queixo do filho, para que se entreolhassem. - Promete-me.
Napoleão manteve-se calado e apenas concordou com uma inclinação de cabeça.
- Tomo isso por promessa. - Carlos fez-lhe uma festa na cabeça, sacudindo o tufo de cabelos negros do filho. - De qualquer forma, acho que gostarás da mudança. Brienne é um
dos reais colégios militares. Aquele lugar vai fazer de ti um homem, e se tiveres êxito, podes ter direito a uma vaga na Real Academia Militar, em Paris. E um dia serás o
coronel Buona Parte, a comandar um regimento de soldados competentes. Não achas que seria óptimo?
O rapaz fitou-o, com os pensamentos em catadupa. Era verdade, ele desejava tudo o que o pai mencionara. Durante um instante, uma pequena parte egoísta da sua pessoa queria
agarrar tudo aquilo. Porém, a seguir, havia a horrível perspectiva de estar sozinho em Brienne. Os três últimos meses em Autun já tinham sido maus o suficiente. Até que ponto
poderia ainda ser pior, sem a companhia do José?
Engoliu em seco e olhou nervoso para o pai.
- O José pode ir também?
Carlos abanou a cabeça.
- Brienne só tinha uma bolsa de estudos disponível, e eu tive a sorte de consegui-la para ti.
O rapaz baixinho virou-se para ele e olhou-o nos olhos em silêncio, por um momento, antes de anuir timidamente. Carlos sorriu, segurando-lhe no queixo com a mão.
- É assim mesmo, meu rapaz. Agora vai fazer a mala, enquanto falo com o teu irmão.
Uma hora mais tarde, a carruagem atravessava o portão da escola e entrava na estrada de terra batida. Enquanto o pai olhava fixamente em frente, Napoleão virou a cabeça para
trás e olhou para a escola, detendo-se de imediato na figura solitária de José, que permanecia de pé, imóvel, junto à portaria. José ergueu a mão e acenou lentamente. O seu
irmão mais novo devolvia-lhe o aceno, quando o abade Chardon se aproximou, colocou uma mão amiga no ombro de José e conduziu-o para dentro do portão e para fora da vista de
Napoleão.
Capítulo 15
O colégio militar situava-se nos arredores da pequena cidade mercantil de Brienne. O colégio era composto por edifícios funcionais, criteriosamente alinhados em redor de um
pátio quadrangular. Fora concebido para alojar cento e vinte cadetes, contou Carlos ao filho, metade dos quais eram bolseiros, como Napoleão. Desta feita, ele não se iria
sentir muito deslocado.
A carruagem atravessou o pátio e dirigiu-se às cavalariças e estábulos, nas traseiras do edifício principal. Napoleão observava tudo à sua volta com especial atenção.
Enquanto um dos palafreneiros do colégio se encarregava da carruagem, um bagageiro aprestou-se a descarregar a arca de Napoleão, conduzindo depois Carlos e o filho à Secção
Administrativa, no centro do colégio. No interior, o hall tornava ainda maior o tamanho do edifício, e os tacos do soalho de madeira envernizada brilhavam com a luz oblíqua
filtrada através de janelas altas com as portadas fechadas, que se estendiam ao longo da parede oposta aos gabinetes. O ar estava impregnado com o cheiro da cera, e o som
dos sapatos deles ecoava nas paredes cuidadosamente caiadas.
- Por aqui, senhor. - O bagageiro indicou uma porta lateral. Um letreiro pintado com esmero indicava ser ali o gabinete do director da instituição. Um banco corrido estava
encostado à parede, a seguir à porta.
Carlos fez uma vénia com a cabeça.
- Muito obrigado.
- Vou levar a arca do jovem para a sua cela, senhor.
- Muito bem.
Enquanto o bagageiro, curvado pelo peso da bagagem, arrastava os pés pelo corredor fora, Carlos e o filho entreolharam-se. Carlos esboçou um sorriso e murmurou:
- Bem, cá estamos, Napoleão.
Ergueu a mão para bater na porta de madeira polida, fez uma pausa para respirar fundo e depois bateu com rapidez.
Ouviu-se uma tosse abafada no interior, seguida de uma voz fina e estridente a dizer:
- Entre!
Carlos rodou o puxador e empurrou a porta. Era mais pesada do que imaginara e resistiu aos seus esforços, com um ligeiro ranger das dobradiças, antes de ceder. O gabinete
era grande, cheio de estantes, ao longo das quais brilhavam as lombadas douradas de livros tão apertados, que parecia pouco provável terem alguma vez sido tirados daí. O gabinete
estava inundado da claridade vinda de uma janela enorme, que dava para o pátio. Em frente da janela, encontrava-se uma modesta secretária de nogueira. Atrás dela, estava sentado
um homem magro, de casaco de simples fazenda preta e cabeleira empoeirada. Usava umas lentes que faziam aumentar os olhos muito mais do que o seu tamanho real, e Napoleão
teve de os suportar, ao ser submetido a intenso escrutínio pelo homem. Houve um momento de pausa, até que Carlos tossiu nervoso e delicadamente empurrou o filho para a frente.
- Sou Carlos Buona Parte, às suas ordens. - Ergueu as sobrancelhas ligeiramente. - O senhor deve ser o director.
Devagar, o homem desviou o olhar de Napoleão e fixou-o no pai. Esboçou um pálido sorriso e respondeu com a sua voz aguda e frágil.
- Sim, creio que é isso que está escrito na placa do lado de fora da porta, Signor Buona Parte. - O olhar regressou a Napoleão. - E este é, então, o novo aluno.
O rosto de Carlos ficou gelado com a forma de tratamento em italiano que lhe fora dirigida, mas disfarçou a irritação e fez uma vénia com a cabeça.
- Sim, senhor. O meu filho, Napoleão.
- Já os esperávamos há dois dias.
- Uma tempestade em Bastia atrasou-me. Perdi tempo antes de poder ir buscar o meu filho a Autun. Peço desculpa.
O director teve uma breve inclinação de cabeça, como que indicando que dificilmente aceitaria o pedido de desculpas.
- Muito bem, senhor. Penso que será de inteira justiça informá-lo de que a entrada do rapaz neste colégio é permitida sob protesto.
- Protesto? Que quer o senhor dizer com isso?
- Apenas que é nossa tradição disponibilizar vagas para os filhos da nobreza francesa. Esta é a nossa primeira candidatura da Córsega.
- Que agora também é francesa, como o senhor deve muito bem
saber.
O director encolheu os ombros magros.
- Parece que sim. De qualquer forma, eu gostaria de não adulterar a qualidade dos nossos discentes com a admissão de alguém de fora da França. - Fez uma pausa e sorriu. -
Da França continental, se me faço entender.
- Adulterar? - Carlos sentiu o peito a explodir de raiva. - O senhor disse "adulterar"?
- Disse, sim senhor. Mas a minha intenção não é denegrir a sua ilha, nem o seu filho, naturalmente. Estou certo de que, a seu tempo, os habitantes da Córsega se irão aclimatizar
à sua nova nacionalidade, à sua nova cultura. Até que esse tempo chegue, a minha opinião é que misturar as nossas respectivas culturas só pode causar confusão no ambiente
educacional do colégio. É uma preocupação que tenho, tanto com o bem-estar do seu filho, quanto com o do resto dos estudantes. E se não tivesse sido pelas bem-intencionadas,
mas mal-direccionadas pressões do conde de Marbeuf na Corte, eu teria conseguido evitar este desafortunado estado de coisas. Assim sendo... - Voltou a encolher os ombros e
abriu as suas mãos pálidas.
Carlos pôs uma mão no ombro de Napoleão e deu-lhe um aperto tranquilizador, ao responder ao director.
- Assim sendo, o senhor recebeu instruções para receber o meu filho no seu estabelecimento de ensino.
- Sim, senhor. Estou certo de que entenderá a delicadeza da situação.
Carlos fitou o director por um momento, antes de responder:
- Eu entendo.
O director sorriu de alívio.
- Tenho a certeza de que o rapaz Napoleão achará que a continuação dos seus estudos em Autun será o melhor.
- O rapaz fica - disse Carlos com firmeza. - Ele recebeu uma bolsa da Coroa. O senhor irá educá-lo como está previsto.
- Compreendo. Se está mesmo determinado em que ele seja educado nesta casa...
- Estou.
De repente, um lampejo de inspiração percorreu a cara do director.
- Como se sentirá ele em relação a isto tudo? - Inclinou-se por cima do tampo da secretária e fixou um intenso olhar em Napoleão. - Então, ra-
paz? Queres ficar cá? Ou preferes ir para junto dos teus amigos, em Autun?
- Por favor, senhor... eu... eu não sei...
- Napoleão - disse o pai com firmeza, voltando-o para si, para que os olhos de ambos se encontrassem. - Vais estudar aqui. Tens esse direito. E não admitas que ninguém te
diga o contrário. Está entendido?
Napoleão sentiu as entranhas a revolverem-se, com uma mistura de orgulho ferido e de desejo de sair daquele local e de regressar para junto do irmão. Mas não ia desiludir
o pai. Não ia recuar face àquele francês arrogante. Engoliu em seco, muito nervoso, e anuiu.
- Eu entendo, pai.
- Óptimo! - Carlos deu-lhe uma palmada no ombro e voltou-se para o director. - Estamos entendidos, então.
- Muito bem - disse o director, num tom resignado. - Imagino que terá uma longa viagem de regresso a casa, na Córsega. Permita que não o detenha nem mais um minuto. Encarregar-me-ei
do seu filho... - esboçou um sorriso para o rapaz -, encarregar-me-ei de que o jovem Napoleão seja atendido.
Carlos fitou-o por instantes e depois assentiu:
- Assim sendo, vou retirar-me. Os meus agradecimentos por o receber em Brienne. Estou certo de que será um estudante capaz.
- Aparenta ser assaz determinado. Certamente que mostrará o que vale. E, agora, se me dá licença, tenho de terminar a inscrição dele. Se fizer o favor, poderá levá-lo até
às instalações do contramestre, ao fundo do hall, para receber o uniforme. Desejo-lhe um resto de um bom dia, senhor.
Carlos conduziu o filho até à saída e de volta ao corredor exterior. Quando a pesada porta se fechou atrás deles, com um ligeiro ranger das dobradiças, pai e filho entreolharam-se
em silêncio. Carlos ainda sentia a raiva a correr-lhe nas veias, mas os olhos feridos do filho despertaram nele o sentimento de culpa.
- Pai, tenho de ficar aqui?
- Tens. Eu sei que vai ser difícil, mas esta é a melhor hipótese de vires a ter um bom futuro. Tem coragem, Napoleão.
Coragem, pensou o rapaz. Sim, coragem. Era tudo o que teria para se proteger. Pela primeira vez, estaria longe da família e estaria sozinho. Um corso, no meio dos altivos
filhos dos aristocratas franceses. Só a coragem o poderia salvar.
- Anda - disse o pai sorrindo. - Vamos ao contramestre. Mal posso esperar para te ver num belo uniforme novo.
- Aí está! - Carlos endireitou-se e retrocedeu dois passos. - Estás tal e qual um jovem senhor.
Napoleão endireitou as costas e sorriu para o pai. O uniforme ficava-lhe bem. Fazia-o sentir-se mais velho e sensato e, de alguma maneira, também mais corajoso. Com aquela
casaca não era assim tão diferente dos outros alunos que circulavam no hall, em frente à porta do contramestre, agora que as aulas da manhã tinham terminado. Pelo menos, não
teria uma aparência diferente. Só que as semelhanças acabariam aí, como Napoleão bem sabia. Mal abrisse a boca, a sua origem tornar-se-ia dolorosamente evidente. E depois,
o que aconteceria?
O pai ainda o examinava, com uma expressão de contentamento no
rosto.
- Fica-te bem. Tenho a certeza de que serás um belo soldado. Um de quem eu me orgulharei.
Napoleão sentiu a garganta apertada e não teve forças para responder de imediato, limitando-se a anuir, com um vago murmúrio, de que daria o seu melhor.
- Estou certo que sim. - O sorriso desvaneceu-se nos lábios do pai.
- Agora, tenho de ir.
Fitou o filho e, por um momento, só conseguiu ver a criança de tenra idade, que nascera há tão pouco tempo. Há tão pouco tempo, era o que lhe parecia. Talvez há demasiado
pouco tempo, reflectiu, sentindo-se culpado. Por um instante, sentiu vontade de pegar na criança ao colo e de a levar de volta à família. Em seguida, tentou ignorar esse sentimento.
Ele não conseguiria proteger o rapaz daquele mundo, para sempre. Era melhor que Napoleão se habituasse aos desafios que o esperavam, o mais depressa possível. E que melhor
oportunidade teria para o levar a cabo do que uma bolsa num dos mais prestigiados colégios de França? Carlos tudo fizera, no que estava ao seu alcance, para que os filhos
progredissem na vida. Tudo por eles, pensou para os seus botões, e este afastamento era apenas mais um dos muitos sacrifícios que tinha de fazer. Carlos estendeu a mão formalmente.
- Darei beijos teus à mãe. Sê bom e trabalha muito.
Napoleão hesitou um pouco antes de apertar a mão ao pai, sentindo instantaneamente o calor que circulou entre ambos quando se tocaram, até que o pai lhe largou a mão.
Napoleão engoliu em seco.
- Quando nos tornamos a ver?
Carlos franziu o sobrolho. Ainda não tinha pensado nisso, mas tinha de tranquilizar o filho:
- Em breve. Virei visitar-te logo que os assuntos da família estejam em ordem.
- Quando será isso?
- Em breve, Napoleão. Nessa altura estarei contigo e com o José também, e pode ser que a tua mãe venha comigo.
- É isso que eu quero - disse Napoleão em voz baixa, esperando um compromisso do pai quanto a uma data, mas sabendo que tal era impossível. - Vai escrever-me?
- Claro que sim! Tanto quanto possível. - Carlos exibiu um dos seus sorrisos brilhantes. - E conto que tu me respondas da mesma maneira, meu jovem.
- Sim, pai, é o que farei.
- Muito bem... tenho mesmo de ir.
- Claro.
Carlos deu uma derradeira palmada no ombro do filho e dirigiu-se para a entrada, ao fundo do edifício, que dava para o pátio das cavalariças. À medida que o pai se afastava
com passos largos e determinados, Napoleão sentiu uma vontade desesperada de o chamar e uma das mãos ergueu-se instintivamente. Mas logo que se apercebeu do gesto, corou de
vergonha e, furioso, forçou a mão a enfiar-se no espaço entre os botões da casaca do uniforme, apertando-a junto ao estômago, onde não o podia trair.
Dez passos à frente, o pai parou e voltou-se para trás. Com uma tranquilizadora inclinação de cabeça, fez-se ouvir:
- Não te esqueças, Napoleão. Coragem!
Napoleão anuiu. Depois o pai afastou-se, embrenhando-se no meio dos grupos de estudantes que circulavam apressados.
O rapaz ficou a ver o pai a passar a entrada, até desaparecer de vista. Uma parte dele queria correr pelo hall abaixo para ver o pai pela última vez, mas logo se apercebeu
de que alguns rapazes o observavam com curiosidade. Encheu o peito de ar, deu meia volta e caminhou, sem pressa, em direcção à sua cela.
Capítulo 16
Napoleão virou-se na cama, dobrando os joelhos até estes baterem no peito, num esforço para se manter quente. Embora fosse Junho, as noites tinham arrefecido nos últimos dias,
e o único cobertor que era permitido aos cadetes, durante todo o ano, não era suficiente para tornar o sono possível. A cama em que estava deitado era de uma tristeza cruel:
um colchão de palha, posto em cima de tábuas abauladas pelos anos de uso, que a faziam assemelhar-se mais a uma cama suspensa do que a uma cama genuína. Ao redor dela, as
paredes, apenas caiadas, elevavam-se até às vigas do tecto, que desciam em perpendicular do telhado. Uma única janela estreita, no cimo da parede exterior, providenciava luz
durante o dia, e agora, que o Sol nascia,
um dedo de luz pálida acinzentada ia penetrando no quarto, iluminando o rodopio lento das partículas de pó.
Resmungando uma praga, deu um pulo no colchão e atirou com o travesseiro à parede. A seguir, abriu o pequeno baú junto à cama e procurou a cópia de Lívio, que tinha requisitado
na biblioteca local. Não possuía conhecimentos suficientes de latim para o ler no original e, por isso, optara por uma recente tradução em francês. Ele já conseguia ler e
escrever em francês com grande fluência, embora não conseguisse disfarçar ou perder o sotaque corso. Pelo contrário, era algo de que ele se começava a orgulhar, como sendo
parte da identidade que o tornava diferente dos filhos da aristocracia francesa.
Recostando-se no travesseiro, abriu o livro no capítulo que tinha marcado com uma tira de pergaminho velho e começou a ler. Desde que tomara conhecimento da História antiga,
quando frequentara a escola em Ajaccio, Napoleão nutria um fervente entusiasmo pela matéria. Algo que ele tinha em comum com outro rapaz, Louis de Bourrienne, que era o mais
próximo de um amigo que ele tinha. Louis gostava de partilhar a sua colecção de livros com o jovem corso. Napoleão passava horas mergulhado nas campanhas militares de Aníbal,
César e Alexandre. E assim, tapado com o cobertor, continuou a ler, totalmente absorvido pela guerra entre Cartago e Roma, até que o rufar lento e forte do tambor tocou o
despertar.
Napoleão colocou o livro no baú e saltou para fora da cama. As meias, calções e camisa já se encontravam no corpo, visto que as usara para combater o gelo da noite anterior.
De qualquer forma, isso dava-lhe vantagem agora que o tambor chamava os cadetes para a assembleia matinal. Enfiou as botas, apertou os atacadores e pôs-se de pé, olhando para
as roupas. Estavam muito amarrotadas em certas zonas, e ele tentou rapidamente alisá-las com as mãos, esfregando nos piores sítios, tentando disfarçar as rugas. Depois, segurou
na casaca, enfiou os braços nas mangas e pegou no chapéu, antes de sair da cela e de se juntar aos últimos cadetes, que se apressavam a descer para o pátio.
Quando emergiu do edifício, quase todos os outros rapazes estavam alinhados, em pé, em silêncio. Napoleão precipitou-se pelo empedrado fora, alertado pela consciência de que
seria o último a chegar ao lugar. Chegou à sua posição, situada na extremidade da linha da frente da sua turma, devido à sua pequena estatura, endireitou as costas rapidamente,
espetou o peito para fora e fixou o olhar em frente.
- Cadete Buona Parte! - O padre Bertillon, professor de serviço nesse dia, berrou da outra ponta do pátio. - Último homem a chegar à parada. Um demérito!
- Sim, senhor! - Napoleão gritou em resposta.
Ao lado, ele sabia que alguns dos rapazes da sua turma lhe atiravam olhares de fúria, e uma voz sussurrou atrás dele:
- Um demérito a mais, Napoleão. Vais pagar por isso.
Os lábios de Napoleão esboçaram um sorriso sem graça. Ele conhecia demasiado bem aquela voz. Era Alexandre de Fontaine, o rapaz alto, de cabelo louro, filho de um aristocrata
proprietário de terras da Picardia. Desde o primeiro momento da chegada de Napoleão a Brienne, que ele demonstrara claramente o desprezo que sentia pelo corso. Primeiro, através
de depreciações murmuradas e de comentários mordazes acerca da pobreza do caloiro. Em seguida, Alexandre tinha-se deleitado com a descoberta de um alvo a postos para as suas
perseguições, que nunca deixava de morder o isco, respondendo com explosões de raiva incandescente, que deixavam todos os que assistiam a rir às gargalhadas. Tinha havido
troca de murros entre eles, em lutas sem grande convicção, que proporcionavam o ambiente ideal para que outros interviessem e lhes pusessem cobro; mas ambos sabiam que um
dia teriam de levar a coisa até ao fim. Uma luta que Alexandre estava destinado a ganhar, já que era de longe o mais alto dos dois e, para além disso, forte e atlético. Napoleão
sabia que poderia levar uma valente tareia, mas era melhor lutar e ser vencido do que ser considerado um cobarde.
O director saiu do edifício administrativo e encaminhou-se para os cadetes. Cumprimentou o padre BertiUon com uma inclinação de cabeça e, sem preâmbulo algum, iniciou a inspecção
à primeira turma, procedendo vagarosamente pelas fileiras abaixo, apontando falhas sempre que podia. Um demérito por um botão em falta. E outro por uma nódoa de gordura nos
calções de um cadete. Passou à turma de Napoleão, iniciando a inspecção pela última fila. Napoleão ouviu-o atribuir um demérito por um corte no colarinho da casaca de um rapaz
e depois nada mais, a não ser o roçar das botas do velho no empedrado do chão.
- Cadete de Fontaine.
- Sím, senhor director.
- Apresentação imaculada, como é costume. Um mérito.
- Muito obrigado, senhor director.
Napoleão não conseguiu deixar de esboçar um sorriso amargo. O uniforme de Alexandre tinha sido limpo, como sempre, por um dos serventes da cozinha e secretamente entregue
na sua cela, noite dentro, quando o jovem aristocrata já dormia. O serviço custava bom dinheiro e era estritamente proibido no colégio. Só que Alexandre provinha de uma classe
que estava acima das regras aplicadas a muitos dos outros cadetes.
O director passava agora revista à primeira fila, e Napoleão permaneceu o mais imóvel que pôde, fixando a vista num dos canos da chaminé, do
outro lado do pátio, para não desviar os olhos nem uma fracção, quando o director o inspeccionasse.
- Ah, e aqui temos o meu pequeno adversário favorito - gracejou o director. - Senhor Buona Parte, como está hoje?
- Estou bem, senhor director.
- Está mesmo? Estará mesmo, de facto? - O director colocou-se em frente ao rapaz mais baixo da turma e inclinou-se um pouco para a frente, fitando-o através das suas grossas
lentes. - O senhor pode até estar bem, mas as suas roupas estão num estado deplorável. Até parece que dormiu com elas vestidas. Será que sim?
- Será que sim, o quê, senhor?
- Não se arme em atrevido comigo, rapaz. Dormiu com essas roupas vestidas?
- Não, senhor.
- Assim sendo, elas terão ficado abominavelmente amarrotadas sozinhas, não foi? Certamente foi de se encolherem para evitar o contacto com a sua pele áspera de corso.
Napoleão controlou a raiva.
- Evidentemente, senhor.
- Compreendo. - O director endireitou-se e gritou por cima do ombro para o professor de serviço: - Cadete Buona Parte, um demérito por má apresentação... e outro por desonestidade.
Virou-se e afastou-se para inspeccionar a turma seguinte.
Napoleão sentia a hostilidade dos seus colegas de turma e, por um instante, amaldiçoou-se por ter adoptado aquele tom insubordinado com o director. Dois deméritos significavam
que a sua turma ficaria no fundo da classificação da tabela de mérito. Aproximava-se o fim do mês, e se permanecesse nessa posição, a turma ficaria confinada ao colégio, enquanto
aos outros cadetes seria permitido passarem um dia na cidade, o que constituía um sistema de recompensa cruel, mas eficiente, que não perdoava aos que falhavam no cumprimento
das exigências da instituição.
A inspecção chegou ao fim, e o director subiu os degraus de um pequeno pódio de madeira e oficiou as orações da manhã. Como sempre, a mente de Napoleão apagava o sentido das
palavras que ecoavam no pátio. Ele não tinha tempo para religiões, considerando-as uma das grandes deficiências que afligiam a humanidade. Imagine-se, punha-se ele a pensar,
quantos sapatos mais poderia fazer um sapateiro, quantas páginas mais poderia escrever um historiador, quantos quilómetros mais poderia marchar um exército, se poupassem as
horas que a Igreja lhes exigia. A vida já era breve o suficiente, e devia fazer-se o melhor uso possível do tempo dado a cada um.
As orações terminaram, e logo que o director regressou ao edifício administrativo, o padre Bertillon dispensou os cadetes para o pequeno-almoço. Penetraram ordeiramente no
refeitório por debaixo das celas e, silenciosamente, dirigiram-se aos respectivos lugares, nas duas filas de longas mesas de madeira. Quando já estavam todos presentes, o
padre Bertillon rezou a oração de graças e deu ordem para se sentarem. O barulho ensurdecedor do arrastar dos bancos e do roçar das botas no chão encheu o refeitório. Os cadetes
começaram a falar, primeiro em voz baixa, depois aumentando o volume, até que o barulho ressoou para fora das paredes.
A porta da cozinha abriu-se de rompante, e vários rapazes a suar entraram no refeitório, transportando panelas de papas de aveia a ferver. Deixaram as panelas em frente do
cadete sénior, à cabeceira de cada mesa. Na mesa de Napoleão, era Alexandre de Fontaine, com Napoleão sentado uns tantos lugares abaixo dele. Na mesa, colocadas em frente
de cada cadete, estavam uma tigela, uma colher e uma taça, todas de madeira. Um jarro de cerveja misturada com água encontrava-se no centro da mesa, e à medida que as papas
de aveia chegavam, o jarro ia passando para encher as taças. Ainda ninguém dirigira palavra a Napoleão, mas a atmosfera entre os seus camaradas era hostil, e quase não havia
as habituais conversas de circunstância. Isto não augurava nada de bom, e ele interrogava-se acerca de qual seria a retribuição que lhe seria imposta, por ter colocado a turma
no fundo da tabela de mérito.
- Passem as tigelas! - disse em voz alta Alexandre, em pé, junto da panela, mexendo o conteúdo com uma concha, o que causava o aparecimento de novas colunas de vapor. Os cadetes
iam passando as tigelas até chegarem a ele, que as enchia uma a uma e as passava para trás, começando com as mais próximas da cabeceira da mesa. Napoleão era ainda considerado
caloiro, sendo o último da fila. Quando Alexandre pegou na tigela dele, olhou para o fundo da mesa e os lábios abriram-se num sorriso malicioso. Levantou a concha, de modo
a que todos vissem o que se passava, e depois deixou cair para dentro da tigela uma porção muito mais pequena do que a que dera aos outros cadetes. Depois, inclinou-se sobre
a tigela e cuspiu lá para dentro.
- Aqui tens algo em retribuição pelos deméritos que tão gentilmente nos arranjaste.
Napoleão fechou as mãos em punhos e cerrou os lábios numa linha apertada. Sentiu o coração encher-se de ódio e de dor. Depois, à medida que a taça era passada em direcção
a ele, cada cadete cuspiu para dentro dela. O último olhou de lado para Napoleão, torceu os lábios em sinal de desdém, cuspiu também e empurrou-lhe a tigela. Napoleão olhou
para Alexandre na cabeceira da mesa e depois, não sabendo se conseguiria
controlar o seu temperamento, olhou para baixo, para o interior da tigela. As papas constituíam um montinho no centro e, brilhando por cima delas, havia cuspo branco com bolhas
lustrosas. Sentiu-se enjoado e quase a vomitar.
Alexandre deu uma gargalhada:
- Come, Buona Parte! Ou nunca serás mais do que um plebeu corso
anão!
As mãos de Napoleão irromperam para fora da mesa e agarraram na tigela. Ao mesmo tempo, sentiu um golpe na perna, um pontapé violento e agudo. Reagiu à dor, e os olhos brilharam
ao encontrarem Louis de Bourrienne, que abanava a cabeça na sua direcção.
- Não faças isso, Napoleão! - sussurrou. - Arranjas-nos mais um demérito. No mínimo.
Napoleão baixou o olhar, com as mãos ainda a agarrarem a tigela, e a face calcinada pela raiva em ebulição. À roda da mesa, os outros cadetes aguardavam com os respectivos
pequenos-almoços, presos à antecipação da tempestade que estava para acontecer.
Napoleão cerrou os olhos e respirou fundo pelo nariz, procurando controlar uma onda de emoção demasiado grande para um corpo tão pequeno. A pouco e pouco, parecia que ia ganhando
controlo sobre a dor e a fúria e começou a pensar com lógica de novo. O Louis tinha razão. Agora não era a altura para reagir. Lutar agora, contra uma esmagadora oposição,
era uma tontice. Fazê-lo em frente do padre Bertillon seria uma estupidez. Esta era uma batalha que era melhor evitar, não obstante o quanto o seu coração o compelia a agir.
À medida que a sua mente se clarificava, concentrou-se na dor na perna. O Louis tinha razão. Napoleão abriu os olhos, olhou para o amigo e assentiu. Os seus dedos relaxaram-se,
largou a tigela e colocou de novo as mãos no colo.
- O quê? Não tens fome? - gritou-lhe Alexandre. - Eu devia ter calculado que não tinhas estômago para isso.
Uma onda de gargalhadas percorreu os outros cadetes e, por instantes, Napoleão sentiu a raiva a regressar, ao reagir à acusação de cobardia. Mas ele sabia o que tinha de fazer.
Ia mostrar a estes desprezíveis aristocratas franceses que era melhor do que eles. Que tinha coragem para enfrentar e vencer aquela tentativa de intimidação. Preparando-se
para o pior, respirou fundo, pegou na colher e retirou um pedaço de papas e cuspo. Olhou para Alexandre e sorriu. Mais uma vez, os outros cadetes ficaram tensos, à espera
de que Napoleão explodisse. Em vez disso, abriu a boca, levantou a colher e fechou a boca em redor dela. A língua recolheu-se de nojo, mas Napoleão forçou-se a comer as papas,
devagar e compassadamente, e depois a ir buscar nova dose com a colher.
- Que nojo... - ouviu alguém a murmurar.
Continuou a comer as papas até ao fim e depois pousou a colher. Quando olhou para cima, reparou que a maior parte dos cadetes o contemplava com expressões de horror e incredulidade.
Alguns não tinham comido as papas, notou com satisfação. À cabeceira da mesa, Alexandre fitava-o com os olhos cheios de ódio e os dedos bem cuidados envolvendo a colher em
forma de punho. Quando os olhos de ambos se encontraram, uma hipótese de vingança ocorreu a Napoleão. Uma que seria muito apropriada, sem dúvida.
Capítulo 17
- Podem sentar-se!
A turma puxou os bancos e sentou-se, em silêncio, aguardando que o padre Dupuy desse início à lição. O professor entrelaçou as mãos, olhou para baixo, para as filas de alunos
e começou do modo habitual.
- Onde ficámos na última aula? - perguntou. Os seus olhos percorreram os estudantes, que tentavam ao máximo ser invisíveis, como habitualmente. O padre Dupuy fez um sinal
com a cabeça a um rapaz sentado na última fila. - Alexandre de Fontaine.
- Sim, senhor?
O padre Dupuy sorriu.
- Tem a gentileza de me recordar onde tínhamos ficado na matéria
dada.
- Sim, senhor. Estávamos a falar do cerco de Jerusalém.
- Certo. E podes recordar-me que obra estava eu a citar quando falei no cerco... - os olhos voltaram-se para outro cadete.... Buona Parte.
- Josefo, senhor.
- Josefo, precisamente. - O padre Dupuy pegou no primeiro caderno de exercícios e abriu-o. - O que me deixa um pouco perplexo com o trabalho de ontem à noite do cadete de
Fontaine, onde ele cita, em alguma extensão, o relato do cerco feito pela testemunha ocular Suetónio.
Alexandre de Fontaine calculava o que aí vinha e mexia-se desconfortável no banco, enquanto o padre Dupuy efectuava uma pausa para efeitos dramáticos.
- É evidente que Suetónio foi abençoado com o mais precioso dos talentos, dado que não teria mais de um ano de idade na altura do cerco de Jerusalém. A não ser que, obviamente,
se esteja a referir a um historiador desconhecido até à data, e cuja tradução das obras só agora se tenha tornado disponível, em Brienne.
Alexandre corou.
- Não, senhor.
- Compreendo. Então, cometeu um erro?
- Sim, senhor.
- Nesse caso é justo que eu lhe atribua um demérito. Sugiro que tome atenção às minhas lições, daqui em diante. - Pegou na pena, molhou-a no tinteiro e acrescentou uma nota
à frente do nome de Alexandre, no livro de registos da turma, antes de levantar os olhos de novo. - Venha buscar o seu caderno de exercícios.
Alexandre levantou-se do banco e caminhou empertigado até à frente da turma. Subiu ao pódio para receber o caderno que o padre Dupuy lhe estendia, depois virou-se e regressou
pelo mesmo caminho. Da sua carteira, Napoleão ficou deliciado ao ver como Alexandre tentava esconder a vergonha que sentia.
O padre Dupuy tossiu.
- Em contraste com o esforço divertido, mas inexacto, de De Fontaine, muito me apraz constatar que, pelo menos, existem alguns alunos que conseguiram escrever relatos completos
do cerco. Concretamente, Louis de Bourrienne, que possui um belo estilo, claro, sucinto e muito bem escrito, pelo qual lhe atribuo um mérito. Aqui tem. - Pegou no caderno
de exercícios seguinte e mostrou-o. Louis sorriu satisfeito para Napoleão. Levantou-se do lugar e apressou-se a ir buscar o caderno.
- E agora chegamos ao trabalho de outro cadete. Como De Fontaine, ele parece ter tido alguma dificuldade em seguir as instruções. Em vez de relatar os acontecimentos do cerco,
este cadete decidiu apresentar uma crítica aos defensores de Jerusalém. - Embora falasse sem procurar os olhos de Napoleão, este encolheu-se um pouco atrás da carteira. O
padre Dupuy ergueu da pilha o caderno seguinte e tomou-lhe o peso na mão, enquanto prosseguia.
- Claro que tive dificuldades com a caligrafia, que envergonharia até a criança mais jovem que alguma vez pegou numa pena para escrever. Mas mal decifrei os gatafunhos, tenho
de admitir que a análise da defesa de Jerusalém é muitíssimo sagaz para um cadete da sua idade. O estilo da prosa não é perfeito, mas o argumento é persuasor. - Agora fixava
os olhos em Napoleão. - Cadete Buona Parte, um dia será um excelente oficial de comando, assumindo que, entretanto, aprenderá a escrever de forma legível. Atribuo-lhe dois
méritos pelo seu ensaio, mas deduzo-lhe um pela má apresentação. Faça o favor de vir buscar o seu caderno.
Napoleão estava à espera de um sermão a criticá-lo por se ter afastado da tarefa que a turma tinha de fazer. Levou um momento para aceitar que o seu trabalho tinha, ao invés,
sido elogiado. Não apenas isso, ele também ganhara um mérito. Isso ajudaria a fazer rescindir a má impressão que tinha
causado na parada matinal. Levantou-se para ir buscar o caderno ao padre Dupuy e caminhou em passo de parada. No regresso à sua carteira, passou junto de Alexandre, e ambos
se fitaram num olhar de mútua hostilidade. Napoleão apercebeu-se de que, pelo menos, um dos seus colegas o detestava ainda mais do que antes. Alexandre e os seus compadres
aristocratas iriam tornar-lhe a vida deveras difícil.
Nessa noite, deitado na cama, Napoleão reflectiu sobre os meses vividos desde que chegara a Brienne. Não tinha passado um único dia sem pensar em José e no resto da família.
Em vez de se acostumar à nova vida, como o pai lhe tinha prometido que aconteceria, tinha-se tornado cada dia mais infeliz, desejando intensamente aquilo que agora lhe parecia
a existência despreocupada que vivera em Ajaccio. Estava longe dos confortos familiares do lar, num mundo estranho, cercado de gente que o tratava como um rude provinciano
e o desprezava com altivez. Apenas um estudante e um professor se entrepunham entre a sua pessoa e a mais terrível solidão.
Napoleão sentiu o coração a endurecer. Alexandre de Fontaine precisava de uma lição. Precisava de ser atirado abaixo do seu pedestal de complacência, de onde desprezava o
resto do mundo. Napoleão decidira o seu plano durante o dia e refinara os pormenores nas horas passadas desde que se fora deitar. Aguardava agora que as duas horas soassem
no relógio da torre, nas profundezas da noite, quando tudo no colégio estaria em silêncio. Por debaixo das roupas da cama, vestia o que trouxera da Córsega. Para a tarefa
que tinha em mente, não podia arriscar sujar parte alguma do seu uniforme de Brienne. Assim, manteve-se imóvel, com a mente a galopar, em parte devido ao seu temperamento
inquieto, em parte para não se deixar surpreender pelo sono. Depois, quando o relógio bateu as duas horas, levantou-se da cama, abriu a porta da cela com cuidado e escapuliu-se
para as sombras silenciosas e imóveis do colégio.
Quando o brilho rosado da aurora revelou as silhuetas dos telhados, os cadetes inundaram o pátio, colocando-se em formatura para a parada matinal. Na ponta da fila, Napoleão
mantinha-se hirto, empenhado em dar a aparência de um cadete modelo. Tinha aprendido a lição do dia anterior, tomando medidas para que o seu uniforme estivesse limpo e engomado
nessa manhã. Por debaixo das roupas, ele sentia a pele a fervilhar e o pulso a acelerar com a ansiedade da expectativa, enquanto observava os derradeiros cadetes a saírem
dos alojamentos. Até ao momento, ainda ninguém tinha notado nada de estranho, e Napoleão manteve-se imóvel e evitou olhar para aqueles últimos cadetes, que trotavam pelo empedrado
fora.
- Onde está o Alexandre? - ouviu alguém a murmurar.
- Não sei. Não o vi. Está a arranjá-la bonita. Ele vai ser o último a chegar... olha, aí vem ele...
- Deus do Céu! Que lhe aconteceu ao uniforme?
Com o murmúrio a aumentar à sua volta, Napoleão achou que era seguro virar-se e ficar a olhar, como os outros cadetes. Alexandre atravessava o quadrângulo em direcção a eles.
O seu rosto era uma máscara de fúria gelada, e o seu uniforme estava coberto de nódoas e manchas castanhas, de algo que aparentava ser lama. No entanto, ao aproximar-se dos
colegas de turma, o cheiro confirmou-lhes que, obviamente, o seu uniforme tinha estado coberto de algo bem mais detestável. De uma muito repugnante aplicação de bosta de porco,
como Napoleão bem sabia. Não que nele tivesse ficado algum resquício dela. Ele tinha raspado a porcaria num estábulo pertencente a um lavrador local e tinha-a trazido num
balde de madeira, para onde atirara o uniforme impecável de Alexandre, acabado de engomar, e onde lhe tinha dado umas voltas, antes de se escapulir até ao bebedouro dos estábulos
do colégio, onde, ao luar, lavou o balde e fez o necessário para que as suas velhas roupas ficassem limpas de toda e qualquer nódoa. Só depois de estar certo de que nenhuma
marca o trairia, é que regressou à cela e se tornou a deitar, excitado e, ao mesmo tempo, aterrorizado com a acção que acabara de levar a cabo; de tal forma, que só conseguiu
dormir uma breve hora, antes que o tambor da alvorada tocasse o despertar.
À sua volta, o espanto dos cadetes transformava-se numa onda de riso e de chacota murmurada em crescendo. A expressão de Alexandre era depressiva, e lágrimas surgiram nos
cantos dos seus olhos, quando chegou junto dos colegas e lhes ordenou:
- Parem de rir! - gritava. - Parem!
Porém, o riso só aumentou de intensidade, com Napoleão, por uma vez, a juntar-se à maioria, com uma gargalhada inicial que lhe convulsionou o peito. Então, era assim que se
sentia quem faz parte da multidão? Piscou o olho a um dos outros rapazes e apontou com a cabeça na direcção de Alexandre. O rapaz, que não trocara mais de duas palavras com
ele em todo o tempo que estivera em Brienne, retribuiu, anuindo e sorrindo.
- Quem fez isto? - gritou Alexandre, às voltas, vasculhando com os olhos todos os cadetes, descontrolado, à procura do inimigo. - Quem é que me fez isto?
Alexandre parou e apontou um braço a Napoleão.
- Tu! Foste tu quem fez isto! Deves ter sido tu!
- Silêncio! - berrou o professor de serviço, atravessando apressado o pátio na direcção da turma deles. - Já para a fila! Despachem-se!
Por um momento, Napoleão observou como as mãos de Alexandre
se fechavam em punhos e como ele parecia estar mesmo perto de investir contra ele. Mas, então, o rapaz mais alto apercebeu-se da iminente chegada do professor de serviço e,
controlando a sua ira, colocou-se na posição que lhe pertencia. Antes que o professor de serviço chegasse junto deles, o director apareceu, vindo do seu gabinete.
- Ponham-se em fila! - gritou o professor de serviço. - Todos vocês! Em formatura!
O riso dos cadetes desvaneceu-se, e todos ocuparam as respectivas posições rapidamente, ao aproximar-se deles o director, com grandes passadas e uma expressão zangada no rosto.
- Que significa isto? - gritou. - Que é isto? Uma parada formal, ou o raio de um mercado de peixeiras? Todos em silêncio! Preparados para a inspecção!
Quando todos estavam aprumados e com o olhar fixo em frente, em posição de sentido, o director assentiu com um sorriso trocista e deu início à rotina familiar, percorrendo
cada fileira de cada turma, escrutinando a aparência de cada cadete. Quando chegou à turma de Napoleão, ainda não tinha dado mais de uma dezena de passos, quando parou e torceu
o nariz.
- Que fedor é este? Quem é o responsável?
Continuou a percorrer a fila, até que chegou ao lugar de Alexandre, onde parou abruptamente:
- Cadete de Fontaine, que pensa que está a fazer nesses preparos?
- Senhor... eu... eu - gaguejou Alexandre. - Eu não fiz...
- Cheira a merda! - O tom do director evoluiu de zanga para espanto, ao prosseguir. - Meu Deus! É mesmo merda! Está coberto de merda. Que significa isto, cadete? Parece que
andou a rebolar-se nela. Como se atreve a apresentar-se na parada nestas condições? O senhor é um cavalheiro, ou não passa de um simples porco? Então?
Alexandre abriu a boca para responder, fechando-a em seguida e abanando a cabeça, continuando a olhar em frente.
- Muito bem - continuou o director com aspereza. - Três deméritos para o cadete de Fontaine. E dois meses confinado ao colégio.
Seguiu em frente, continuando a inspecção. Napoleão esforçou-se por manter o rosto inexpressivo, quando o director deu a volta, no fim da fila, dirigindo-se para ele e parando
repetidamente para ver de perto cada um dos cadetes. Quando chegou a Napoleão, parou, observou pormenorizadamente o pequeno corso e assentiu com despeito:
- Muito melhor, cadete Buona Parte. Parece que está a aprender os modos dos melhores. Antes tarde do que nunca. Continue assim!
- Sim, senhor.
Mal terminaram as orações da manhã e os cadetes foram dispensa-
dos, Napoleão dirigia-se à sala de aulas, mas uma mão deteve-o pelo ombro e obrigou-o a dar uma volta. Napoleão deu com a face empalidecida de Alexandre de Fontaine.
- Grande sacana! - sussurrou Alexandre. - Não sei como te arranjaste para fazer isto.
- Eu?
- Eu sei que foste tu. Não finjas que não.
Napoleão fez um sorriso doce.
- Prova que fui eu.
- Não tenho de provar nada. Quem mais se rebaixaria a fazer uma coisa destas?
- Não sei. - Napoleão coçou o queixo, como se estivesse a pensar no assunto a sério. Depois lançou um olhar fulminante. - Talvez alguém igualzinho a ti?
Os lábios do outro rapaz abriram-se de raiva, e ele começou a erguer o punho para esmurrar Napoleão, mesmo à vista do professor de serviço. Num instante de puro deleite, Napoleão
aguardou que o seu inimigo o agredisse com um murro, que resultaria num castigo muito mais severo do que aquele que recebera pouco antes. Só que, no último instante, um dos
amigos de Alexandre agarrou-lhe no braço e segurou-o.
- Não! Aqui não! - Deitou um olhar a Napoleão e prosseguiu em voz baixa. - Mais tarde. Sem testemunhas. Vamos, Alexandre.
De Fontaine permitiu que o arrastassem dali para fora, não sem antes ter sorrido a Napoleão.
- Mais tarde, então, corso.
- Ao dispor. - Napoleão encolheu os ombros. - Se é que és homem.
- Se sou homem? - perguntou Alexandre, com um riso nervoso.
- Podes crer. Sou muito homem. A questão é saber se tu o és!
- Estarei preparado.
Napoleão acordou de repente, com um susto. Por um momento, distinguiu a presença de várias silhuetas negras, em redor da cama. Depois, um saco escuro foi-lhe enfiado na cabeça.
Antes que o pudesse arrancar, várias mãos agarraram-lhe o corpo, e um punho atingiu-lhe o estômago, fazendo-o expelir o ar que tinha nos pulmões. A gemer, foi virado de barriga
para baixo, e seguraram-no à força, enquanto alguém lhe atou as mãos atrás das costas com uma corda. Em seguida, uma voz murmurou-lhe ao ouvido:
- Não dês à língua, se não queres que ta cortem.
- Não te atreverias - disse Napoleão ofegante.
- Silêncio! Nem mais uma palavra, ou vais ver.
Napoleão sentiu algo a ser-lhe espetado nas costas, afiado o suficiente para lhe cortar a pele. Soltou um gemido, o que foi recompensado com um estalo forte na sua cabeça
tapada.
- Da próxima vez que piares, a lâmina entra até ao fundo.
A seguir, puseram-no de pé e arrastaram-no até à porta da cela e pelo corredor fora. Moviam-se silenciosos e com rapidez, e ele calculou que estivessem descalços. Depois do
corredor, chegaram ao topo das escadas e desceram-nas, com os pés de Napoleão roçando penosamente o fim de cada degrau. Abriram uma porta, e ele sentiu uma leve corrente de
ar frio. Estavam no exterior do colégio e passavam agora ao lado dos edifícios, atravessando depois um descampado.
- Metam-no lá dentro - sussurrou uma voz, e ouviu-se o leve ranger de uma porta com dobradiças velhas. Napoleão foi de encontro à tosca ombreira da porta e depois foi atirado
ao chão. As narinas encheram-se do cheiro a cavalo e a estrume. Devia estar num estábulo. Ouviu o som do riscar da pedra de sílex e depois os estalidos da acendalha e viu
a chama a acender uma vela, cuja luz pálida quase não era visível através da serapilheira que o cobria. Napoleão sentiu o coração a acelerar no peito, enquanto os ouvidos
se esforçavam por captar todo e qualquer som à sua volta. Estava aterrorizado. Pela primeira vez, desde que fora arrancado da cama, temia pela vida. Quem o ouviria, ali naquele
estábulo, mesmo que gritasse por socorro?
- Hoje vais levar uma lição. Se abrires a boca em relação a isto, pagarás por isso. Está entendido?
- Deixem-me ir embora!
- A seu tempo. Depois de nos divertirmos. Levantem-no e deitem-no por cima daquele banco.
Foi agarrado e arrastado pelo chão do estábulo e colocado de cara para baixo sobre um banco pouco alto. As mãos de uns empurraram-lhe os ombros para baixo, enquanto outro
pegou na camisa de noite pela bainha e a puxou para cima, juntando-a em pregas sobre as costas, de forma a deixar as nádegas à mostra. Napoleão deu pontapés como podia e sentiu
que atingira alguém.
- Ai! O grande merdoso! - Logo a seguir, recebeu um golpe tão duro num dos lados da cabeça, que quase pôs tudo a brilhar de branco para ele. Contraiu-se com a dor, que provocou
nova convulsão no peito.
- As lágrimas não te vão salvar agora, Buona Parte... Vamos começar, senhores?
- Esperem. Ele ainda não chegou.
- Problema dele.
- Foram-no acordar. Ele vai aparecer. Não vai querer perder o espectáculo.
Durante um bocado, ninguém falou, e o único som audível era a respiração aflita do jovem corso. Depois, a porta lá atrás abriu-se.
- Até que enfim! Eu já me estava a preparar para não esperar por ti. Queres participar?
- Não - disse o recém-chegado, cuja voz Napoleão reconheceu imediatamente. Era Alexandre de Fontaine. - Só vou assistir.
- Como queiras. Passa-me a cana.
Napoleão ouviu alguém atrás de si a aproximar-se. Houve uma estridência sibilante no ar, e, logo a seguir, sentiu o primeiro golpe de cana nas nádegas e uma dor que queimava
e ardia, como se fosse fogo, quando a cana se afastou, após o primeiro de muitos golpes. Quando o segundo o atingiu, Napoleão gritou.
Capítulo 18
Londres, 1779
No início da Primavera, Arthur e os seus irmãos desembarcaram em Bristol e apanharam a carruagem para Londres. Quando chegaram a Windsor, viram ao longe uma névoa espessa
acinzentada cobrindo a paisagem, assemelhando-se a uma flor doente. Ao aproximar-se a carruagem da capital, eles conseguiram distinguir as silhuetas de São Paulo e de Westminster,
no meio das colunas de fumo que se erguiam em direcção ao céu imóvel. O campo deu lugar às primeiras ruas pavimentadas, e os rapazes começaram a aperceber-se da verdadeira
dimensão da cidade e a maravilhar-se com a sua vastidão, que esmagava como anãs as pretensões de Dublin. Os edifícios foram subindo de altura, por todos os lados, bloqueando-lhes
a vista, à medida que a carruagem se embrenhava no tráfego cada vez mais congestionado da capital. O barulho das rodas e das patas dos cavalos nas ruas pavimentadas, bem como
a confusão dos gritos dos peões e dos pregoeiros tomaram conta dos ouvidos dos rapazes. Porém, nada diminuíram da sua excitação e da sua expectativa em relação à tão esperada
reunião com o resto da família.
A seu tempo, a carruagem entrou num pátio enorme, perto de Kings Cross, onde algumas outras carruagens já se encontravam, umas acabadas de chegar e outras preparando-se para
partir. Montes de esterco estavam espalhados pelo pátio; o seu odor, misturado com o travo amargo do fumo e da fuligem, recebeu os rapazes quando desceram da carruagem.
- Menino Richard! Senhor! - A voz cortou o ar, e Arthur viu logo
O'Shea, de mão levantada para atrair a atenção deles, enquanto corria pelo pátio adentro, acenando por entre os montes de esterco. Aproximou-se ofegante e a tossir, naquela
atmosfera acre. - Venho buscá-los, para vos levar para casa. Como foi a viagem, jovens senhores?
- Correu tudo bem, obrigado. - Richard sorriu. - É bom vê-lo de novo. Quem mais está lá em casa?
- Oh, apenas eu vim de Dangan, senhor. O resto do pessoal foi contratado em Londres. Com ordenados mais altos do que os que eu alguma vez tive, é o que é.
O'Shea chamou uns bagageiros para carregarem as arcas da escola dos rapazes numa tipóia pequena, puxada por um único cavalo. Em seguida, partiram, percorrendo as ruas até
ao endereço da casa que o pai alugara em Knightsbridge. Com o pôr-do-sol, ocorreu apenas uma gradual diminuição da luz possível naquele nevoeiro que cobria a cidade. Na altura
em que chegaram aos degraus que levavam à porta principal, uma escuridão profunda já se fechara sobre eles, apenas contrariada pelo brilho pálido das lanternas e das velas
colocadas nas janelas dos edifícios por onde tinham passado. Esparsos candeeiros de rua providenciavam mais alguma iluminação, nas vias mais largas.
- Cá estamos, jovens senhores! - anunciou O'Shea, parando em frente de um lance de degraus, que conduzia a um pórtico com pilares. - A vossa nova casa.
Tomou a dianteira ao subir os degraus, bateu à porta e depois afastou-se respeitosamente para um dos lados, enquanto esperava que a abrissem. Com um ruído pouco familiar,
a tranca rodou, e a porta abriu-se para o interior. Um criado, de cara descorada, inspeccionou-os com o olhar.
- Sim, senhor? - dirigiu-se a Richard, antes que pudesse ver O'Shea e os bagageiros. - Ah, devem ser os filhos de Sua Senhoria.
- Somos mesmo! - afirmou Richard, fazendo entrar os irmãos.
O'Shea fez um sinal com a cabeça para os bagageiros, e eles deixaram
as arcas no hall de entrada, aguardaram o pagamento e tocaram as palas dos respectivos bonés em cumprimento, antes de regressarem à rua. A porta fechou-se atrás deles.
Richard olhou em redor do atraente hall de entrada, de painéis forrados a papel.
- Muito simpático. Por favor, informe os meus pais de que chegámos.
O criado fez uma muito ligeira vénia com a cabeça.
- Lamento, senhor, mas Lorde e Lady Mornington não se encontram em casa. Estão numa reunião social. Deixaram instruções para que
comessem quando chegassem. Um buffet frio foi preparado para o efeito e colocado na sala de jantar.
- Quando regressam? - perguntou Arthur, com uma expressão preocupada.
- Só bastante mais tarde, senhor. Agora, se me permitirem que leve os vossos casacos, indicar-lhes-ei onde fica a sala de jantar.
- Anima-te, Arthur! - Richard deu um apertão leve no braço do irmão. - Vamos esperar por eles.
- Lamento, mas tal não é possível, senhor - disse o criado, por cima do ombro, enquanto pendurava os casacos nos ganchos de um armário pouco profundo, colocado junto à porta
de entrada. - A senhora disse que estariam cansados da longa viagem e que deveriam ter uma boa noite de sono, logo que terminassem o jantar. Eles estarão à vossa espera amanhã,
ao pequeno-almoço.
- Compreendo. E onde estão a Anne, o Gerald e o Henry?
- Já estão deitados, senhor.
-Oh...
- Deseja mais alguma coisa, senhor? Posso conduzir-vos à sala de jantar?
- Sim... acho que sim.
Embora os rapazes comessem com apetite, pairava uma peculiar sensação de desapontamento à mesa de jantar. Logo que o criado acabou de servir as doses de carne a cada um e
se retirou da sala, William inclinou-se para os irmãos e disse em voz baixa:
- Ao menos podiam ter ficado em casa, à nossa espera. Ao fim e ao cabo, já não nos vêem há imenso tempo.
- Um desencontro aborrecido - constatou Richard, encolhendo os ombros. - Acontece. Além disso, foi efectivamente uma viagem longa e, pela parte que me diz respeito, estou
absolutamente exausto. Uma boa noite de sono vai ser uma maravilha, para amanhã me levantar fresco para ver os pais, logo de manhãzinha.
- Acho que tens razão - murmurou William. - Mas mesmo assim...
Arthur estava demasiado cansado para comer mais do que umas poucas fatias de carne de porco e pousou a faca e o garfo juntos, recostando-se na cadeira, à espera que os irmãos
acabassem de comer. Olhando para a sala em volta, reparou que era bastante confortável e bem conservada, mas não era mais do que uma pequena fracção na escala de Dangan. Depois,
o olhar chegou à janela. A sala de jantar ficava no primeiro andar e tinha vista para a rua. Lá fora, nas sombras, através do vidro sujo e ondulado, viu
uma solitária carruagem de aluguer a passar, como um peixe cinzento num aquário sujo.
Depois do jantar, foi conduzido a um quarto estreito, ao fundo de um curto corredor, no quarto andar da casa. Havia uma cama de metal junto da janela com portadas. As suas
roupas já tinham sido retiradas da arca e guardadas com todo o cuidado num grande guarda-fatos. Despiu-se, enfiou a camisa de noite, meteu-se debaixo dos cobertores e deitou-se.
Durante um bocado, o sono tardou em aparecer, e ele optou por se sentar na cama, à escuta de qualquer som que lhe indicasse o regresso dos pais. Mas a casa permanecia silenciosa,
e o único som que se ouvia era o abafado e ocasional bater e andar das carruagens, na rua em baixo. Ao longe, escutou um sino distante a assinalar o passar de mais uma hora.
Arthur acordou com um raio de luz pálida a bater-lhe directamente na cara. Por instantes, ficou perplexo e confuso com o que o rodeava. Depois, recordou a chegada da noite
anterior, atirou os cobertores para trás e vestiu-se à pressa. Não tinha uma ideia precisa de que horas seriam e temia que o resto da família já estivesse a tomar o pequeno-almoço.
A perspectiva de se reunir com os pais aquecia-lhe ternamente o coração e, logo que atou as botas, correu escada abaixo, numa sequência de pulos. No primeiro andar, parou
e mudou de direcção, para ir para a sala de jantar. A porta estava ligeiramente aberta e ele empurrou-a e entrou de rompante, ofegante e a sorrir.
- Bom-dia, Arthur - saudou Richard pausadamente. Era a única pessoa na sala. A mesa estava posta para o pequeno-almoço, mas nenhum dos lugares tinha sido mexido.
Arthur franziu o sobrolho.
- Onde está toda a gente?
- Ainda estão na cama.
-Oh...
- Podes fazer-me companhia. Pedi chá e costeletas de borrego.
Arthur atravessou a sala e puxou uma cadeira do lado oposto ao irmão mais velho.
- Que horas são?
- Sete e meia. Ou melhor, eram sete e meia quando perguntei, há poucos minutos.
- Sete e meia! - Arthur não conseguiu esconder a apreensão. Em Dangan, já todos teriam há muito terminado o pequeno-almoço. - Achas que estão doentes?
- O William tem o sono pesado, mas quanto aos outros...? - Richard encolheu os ombros.
Uma criada de idade entrou na sala, vinda da pequena porta de ser-
viço, situada num dos cantos. Em silêncio, levou um tabuleiro para a mesa e colocou-o em frente a Richard. Retirou depois a tampa de uma travessa, revelando costelas de borrego
ainda fumegantes.
- O senhor deseja mais alguma coisa?
- Não, obrigado.
Ela olhou em frente.
- O outro senhor desejará alguma coisa?
- Chá, por favor. E pão. E sabe dizer-me a que horas os meus pais se juntarão a nós?
- Chá e pão. Sim, senhor. Quanto ao restante, não lhe sei dizer, senhor. Só regressaram depois da meia-noite. Em ocasiões assim, eles raramente descem para o pequeno-almoço
antes das nove horas.
- Às nove horas! - exclamou Arthur. - Mas isso é metade da manhã passada!
- Bem o pode dizer, senhor.
- E a Anne e o Gerald?
- Eles já comeram antes, senhor. A ama levou-os a dar um passeio. Agora, se me permite, vou buscar o vosso pequeno-almoço.
Virou-se e desapareceu pela porta de serviço. Arthur fitou o irmão, desesperado.
- Ela não pode estar a dizer a verdade.
- Veremos.
Richard comeu as costeletas de borrego e depois sentou-se à espera, enquanto Arthur mastigava o pão. Pouco antes das oito horas, William entrou na sala e ficou tão estupefacto
como os outros com a ausência do resto da família. Finalmente, quando faltava um quarto para as nove, ouviram-se as vozes dos pais, e, no momento seguinte, entraram na sala
de jantar, ainda vestidos com as roupas de dormir. Lady Mornington bateu com as palmas das mãos no rosto.
- Os meus queridos!
Apressou-se a chegar à mesa para beijar os filhos e depois sentou-se, sorrindo, enquanto Lorde Mornington assumia o seu lugar à cabeceira da mesa, com um sorriso.
- É bom vê-los de novo, rapazes.
- Chegámos ontem à noite - disse lacónico Richard - e os senhores não estavam em casa.
- É verdade - respondeu a mãe. - Houve um baile nos De Vries, em Mayfair. Não podíamos deixar de estar presentes. Por favor, não reajas assim. Não, quando já há tantos meses
que não vos vemos.
- Foi exactamente por isso que pensei que estivessem ansiosos por nos verem.
- E estou, estou mesmo, meu querido Richard. Mas deves compreender a importância de estar bem relacionado em Londres. Podes crer que se pudéssemos ter evitado a soirée de
ontem, o teríamos feito. Não é assim, Garrett?
- Sim, é verdade. E eu penso que o Richard devia mostrar um pouco mais de gratidão pelos nossos esforços para tentar amenizar a entrada dele e dos irmãos na alta sociedade.
Richard engoliu em seco.
- Estou-lhe grato, pai. Acredite.
- Pronto! - Anne sorriu. - Bem te disse que ele ia gostar. Rapazes, vocês vão adorar isto tudo. Há tanta coisa para ver, tantos sítios aonde ir, tantas pessoas interessantes
para conhecer. Mal posso esperar para vos apresentar aos meus amigos.
- Fico à espera, mãe.
- E, por favor, não fales nesse tom, Richard.
Ele parecia espantado.
- Em que tom?
- Com esse sotaque. Não cai bem na sociedade londrina. Faz-te parecer... provinciano.
- Provinciano? - Richard manteve a expressão de surpresa. - Foi sempre assim que falei.
- Precisamente - interrompeu o pai. - E é por isso que deves mudar. Não vais querer que a sociedade especule acerca da tua pessoa. Isto também se aplica a vocês os dois. Estou
certo de que lhe apanharão o jeito, em breve. Aqui as coisas são diferentes, e têm de fazer todos os esforços para se integrarem, a não ser que desejem ser excluídos das listas
de convidados de toda a gente. Decerto que não quererão que isso aconteça à vossa mãe e a mim, como consequência de algum erro que possam ter cometido. - Garrett olhou fixamente
para o filho mais velho.
- Nós compreendemos, pai.
- Óptimo! Está esclarecido. Agora podemos divertir-nos. Ah, quase me esquecia! Arthur, arranjei uma nova escola para ti. A Escola de Brown, em Chelsea. O período lectivo tem
início na próxima semana. Deves estar ansioso por começar.
Arthur esboçou um sorriso apagado.
- É uma bela mudança comparada com a de Trim, no meio de nenhures.
- Eu até gostava de Trim - respondeu Arthur. - Quando me habituei. E o doutor Buckleby era um grande professor.
- Sim, é verdade. Como estava ele quando partiste? Deve ter uma vida acomodada.
- Está velho, mas a mente é aguçada. - Arthur mostrou-se animado. - Escreveu uma peça de música para mim. Tenho-a lá em cima. Quer que eu vá buscá-la?
- Teremos muito tempo para examinar a balada dele mais tarde. Talvez possamos sentar-nos juntos e tocá-la até ao fim, Arthur.
- Gostaria muito.
- Mas hoje não. A minha cabeça parece a de um ferreiro, e tenho de repousar da parte da manhã.
Anne tocou a sineta de mão, que se encontrava sobre a mesa. Quando a criada apareceu, pediu-lhe que lhe levasse café ao quarto e levantou-se da mesa.
- Agora, meus meninos, tenho de me ir arranjar. Estejam à vontade na descoberta da vossa nova casa. Podem brincar com os outros no quarto das crianças, quando eles regressarem.
A seguir ao almoço, podemos apanhar uma carruagem até Cortfields, para vos mandar fazer roupas apropriadas. Até mais tarde. - Ela levantou-se e acenou por cima do ombro, sem
se voltar.
- Bem - sorriu Garrett -, preciso de descansar a cabeça. É bom ver-vos de novo.
Saiu da sala, e os três rapazes encontraram-se sozinhos, mais uma vez. Arthur sentiu que um dos fortes laços que o unira ao pai fora quebrado e temeu que nunca mais fosse
restaurado.
Capítulo 19
A Escola de Brown, em Chelsea, era uma indistinta escola preparatória, situada nas franjas de uma zona na moda. Cada manhã, bem cedo, Arthur era acompanhado à escola por O'Shea.
O mestre-escola era um bilioso ex-oficial do exército, o major Blyth, cuja filosofia educacional consistia em que um currículo tinha de ser limitado ao menor número possível
de matérias, ensinadas da maneira mais repetitiva possível. William fora enviado para Eton e Richard para Oxford, logo que abrira vaga numa das faculdades. Em consequência,
a casa ficara estranhamente vazia e, como era alugada, muito impessoal. O ar denso e áspero da cidade tornou-se ainda mais numa estufa quando a Primavera deu lugar ao Verão,
e o quase permanente nevoeiro que pairava sobre o centro de Londres cobriu os habitantes com uma sombria sauna que deprimia a disposição de Arthur.
Regressava da escola à hora do almoço e, quase sempre, comia com os irmãos mais novos, enquanto os pais se vestiam para irem a compromissos cada vez mais frequentes. Quando
não era um baile ou uma festa, era o teatro, ocasionalmente a ópera, ou até uma luta de boxe premiada. O pai
continuava a compor, e tinha marcado uma série de concertos públicos gratuitos, em locais de reunião por toda a cidade. No entanto, a vida social movimentada deixava a Garrett
muito pouco tempo disponível para recitais com o filho, e Arthur teve de se contentar em praticar sozinho no quarto. No início, esforçou-se grandemente para aprender a composição
do doutor Buckleby, mas o tempo foi passando, e o pai não dava mostras de tirar uns momentos para ouvir a peça.
De vez em quando, havia uma saída de família. Era quase sempre para um dos concertos de Garrett, de forma a aumentar o número de espectadores. Anne encorajava-os a aplaudir
calorosamente, no final de cada peça. Noutras ocasiões, levavam as crianças às corridas ou ao críquete, deixando-as ao cuidado de um dos criados, enquanto os pais circulavam
entre os aristocratas, trocando convites. Sempre que Lorde e Lady Mornington recebiam em casa, era suposto as crianças permanecerem discretamente afastadas, nos seus quartos,
ou no quarto onde brincavam. Graças à guerra nas colónias americanas, a capital estava cheia de uniformes coloridos dos oficiais que estavam de saída para combater o traidor
general Washington e o seu exército de maltrapilhos, ou que tinham acabado de regressar da campanha. Pelo que ouvira dizer a esses homens, Arthur sabia que a guerra não corria
tão bem quanto davam a entender os jornais londrinos.
Em qualquer caso, os londrinos estavam preocupados com acontecimentos muito mais próximos de casa, nesse Verão de 1780. Lorde George Gordon, um fervente opositor da Igreja
de Roma, tinha andado a espicaçar a populaça de Londres. Numa série de encontros públicos, assegurou existir uma conspiração por detrás do Édito Católico, que fora aprovado
dois anos antes, com o intuito de restaurar alguns dos direitos civis dos católicos. Arthur e o pai passeavam em Hyde Park, num domingo, quando deram de caras com um ajuntamento
a escutar um dos ataques incendiários de Gordon contra as maquinações católicas que pretendiam tomar o poder em Inglaterra. Gordon, de faces vermelhas e vociferando, atirava
os punhos fechados ao ar, enquanto cuspia indignidades contra os inimigos e manipulava a audiência com todo o descaramento. Os resmungos de concordância depressa se transformaram
numa agitada expressão de ódio. Era a primeira vez que Arthur assistia às cruas emoções da multidão, e a experiência aterrorizava-o.
- Pai - puxou com firmeza a mão do pai -, por favor, podemos ir para casa? Aquele homem está a assustar-me.
Uma velhota, com dentes enegrecidos e tortos, ouviu o comentário e olhou de soslaio para Arthur.
- Ora, benzó Deus, mê rico menino, que isso mesmo quele quer.
Temos é muito quarrecear. O raios parta dos católicos comem a gente à merenda, sa gente nãos comer primeiro.
Garrett avançou para o meio dos dois.
- Faça o favor de deixar o meu filho em paz.
Ela olhou-o com insistência.
- Só 'tou-lhe a dizer a verdade, senhor. Melhor qu aprenda, antes que se faça tarde.
Garrett, segurando com força a mão de Arthur, afastou-se da velhota. Ainda parou mais um pouco para ouvir o sermão apaixonado de Gordon e avaliar a resposta da multidão. Depois,
disse ao filho:
- Ele também me está a assustar. Vem, vamos embora, antes que haja sarilhos.
No início de Junho, uma multidão reuniu-se em frente ao parlamento e gritou a sua fúria contra os políticos, enquanto Gordon e seguidores lhe alimentavam a raiva com ainda
mais discursos e panfletos. Inevitavelmente, a multidão tornou-se violenta, e, nos dias que se seguiram, Arthur vislumbrou densas nuvens negras de fumo, subindo em espirais
no céu, quando a multidão em cólera percorria as ruas do East End. Na manhã de 7 de Junho, na ida para a escola, Arthur foi obrigado a refugiar-se numa frente de loja, enquanto
um ajuntamento de bêbedos marchava apressado rua abaixo, para se juntar aos desordeiros, gritando palavras de ordem anticatólicas. Fitou-os com os olhos esbugalhados de medo,
até que desapareceram; depois, não parou de correr, até chegar à escola.
- E que significa isto? - Anne acenava ao filho com a nota do major
Blyth.
Vestida de veludo, estava sentada à mesa do toilette, no seu quarto de vestir, onde tinha estado a aplicar sinais de beleza para a festa da noite. Ela iria sozinha desta feita,
dado que Garrett estivera acamado com tosse a semana inteira. O médico receitara descanso e sanguessugas. Garrett consentira o primeiro tratamento, mas insistira que os seus
banqueiros lhe forneciam mais do que o suficiente do segundo.
Ela mandara chamar Arthur, mal acabara de ler a nota. Ele aguardava agora junto à porta, de olhos postos no chão.
- Então? Explica-te!
- Houve uma luta, mãe. Acontece na escola.
Ela fitou-o com um olhar gélido.
- Não te atrevas a falar comigo nesse tom!
- Peço desculpa.
- O major Blyth informa-me que foste tu a começar a luta.
- Sim, fui eu, mãe.
- E porquê?
- Fui insultado.
- Portanto, pensaste que o podias calar.
- Não. Só lhe dei um murro.
- Deste-lhe um murro? - Anne atentou na sua frágil constituição.
- Muito me surpreende que o outro rapaz não te tenha partido em dois. Sorte a tua que o major Blyth estava perto, e acabou com a luta.
Arthur encolheu os ombros.
- Parece que a minha sorte está a mudar.
- Que queres dizer com isso, exactamente?
Por instantes, ele sentiu as emoções a emergirem em catadupa e teve de fazer uma pausa para as controlar.
- Não gosto disto aqui, mãe, nunca gostei. Não gosto da escola. Não gosto de Londres. Não gosto de me sentir abandonado pela senhora e pelo pai...
- Ó, Arthur, vê lá se cresces! - atirou-lhe a mãe, pousando com veemência a nota do mestre-escola - Não podes passar a tua vida metido na toca, numa ventosa terra de nenhures,
na Irlanda. É em Londres que as coisas acontecem. Aproveita o mais que puderes.
- Estou cansado de Londres.
- Arthur - prosseguiu ela, num tom mais amistoso -, esta é a tua casa agora, e é melhor que te habitues a isso. Também é o meu lar e o do teu pai, e nós gostamos disto aqui.
Tenta não nos estragar a vida.
- Que acontece quando o dinheiro acabar?
- Perdão...?
- Eu não sou um tontinho, mãe. Eu sei o que é uma livrança. Na outra noite ouvi a senhora a falar com o pai acerca disso. Que acontece quando as dívidas forem à cobrança?
- Não irão. Não interessa a ninguém arruinar um par do reino. E já que te decidiste a ter um tão profundo interesse pelas finanças das outras pessoas, deves ficar a saber
que os nossos rendimentos só estão a sofrer uma redução temporária. Logo que termine a guerra nas colónias americanas, a confiança nos mercados será restaurada, e os nossos
rendimentos regressarão ao seu nível anterior. Portanto, não te preocupes com isso.
Arthur fitou-a por um momento.
- É tudo, mãe?
- Diacho, sabes bem que não é tudo! - Agitou a nota à frente dele.
- Aquela briga que arranjaste não é o único assunto tratado pelo major Blyth. Parece ser um mero sintoma de um falhanço mais vasto. Diz que tu és... "absorto, desinteressado,
indolente e letárgico". Diz que não estás a
progredir em nenhuma matéria e que tens fracas relações com os teus pares e com os professores. Ora bem, que tens tu a dizer a isto?
- É verdade.
- Compreendo... Então, terás de ser castigado.
- Vai dizer ao pai?
- Não, por enquanto não. Ele não está bem. Parece que ainda não se viu livre da constipação que apanhou na Primavera. Não tenho desejo algum de lhe piorar a saúde, dando-lhe
conta do teu lamentável comportamento na escola.
Arthur tentou disfarçar o desapontamento. Na verdade, ele desejava que o pai fosse informado da sua infelicidade actual, para que pudesse repensar a mudança da família para
Londres. Talvez o pai vislumbrasse juízo, onde a mãe não via nenhum.
- Agora, vai. - Anne gesticulou com impaciência na direcção da porta. - Tenho muito para fazer antes de sair.
Arthur anuiu e saiu do quarto de vestir em silêncio, fechando a porta atrás de si. Tomou a direcção da escada para regressar ao seu quarto, mas, quando chegou ao primeiro
degrau, ouviu um barulho estranho vindo da rua em frente de casa, um batimento ritmado de passos. Foi crescendo de intensidade, e ele afastou-se das escadas e dirigiu-se às
portas da varanda do primeiro andar, que dava para a rua, e saiu para o ar da noite. Em baixo, uma longa coluna de soldados marchava rua acima, com as botas com protectores
metálicos a ressoarem no chão empedrado, o que provocava o barulho que ele ouvira no interior. Três oficiais a cavalo seguiam à testa da coluna, e, num momento de deslumbramento
infantil, perante uma visão tão heróica, Arthur acenou-lhes e sorriu-lhes. Apenas um sargento o viu e não retribuiu o cumprimento, mantendo a postura sóbria e contrita, até
que virou a cabeça de novo para a frente. Arthur continuou a ver a coluna a passar. Tentou contá-los, mas desistiu quando passou de duzentos, e eles ainda continuavam a vir.
Às centenas. Por fim, a cauda da coluna passou, e ele continuou a observá-la, até que desapareceu no topo da rua. Só então se apercebeu de uma presença atrás de si e, virando-se
de repente, deu de caras com o pai, embrulhado num casaco grosso, amparando-se na ombreira da porta. Arthur já não o via há dias e ficou chocado com a palidez da pele e o
olhar abatido.
Garrett esboçou um sorriso.
- Soldados, hum? Parece que finalmente o governo decidiu meter Gordon e a sua escumalha na ordem.
- Vai haver lutas, pai?
- Talvez. Duvido.
- Os soldados vão disparar contra eles?
- Não! - Garrett riu-se e despenteou o cabelo do filho. - Claro que não. Não há necessidade. A multidão quando os vir, pernas para que vos quero.
À medida que o bater das botas no chão se desvanecia, ouviram sons abafados à distância: o inconfundível ruído de uma multidão que se agiganta e logo cai, como uma brisa passageira.
Intervalados com a gritaria, ouviam-se disparos ocasionais. Garrett saiu para a varanda e descansou a mão no ombro do filho, enquanto concentrava a atenção nos sons distantes.
Arthur sentiu o tremor da mão do pai e atribuiu-o ao frio do ar nocturno. O pai tossiu. Tossiu de novo, e a seguir o corpo contorceu-se com um ataque de tosse. Arthur estendeu
a mão e deu-lhe umas palmadinhas nas costas e depois afagou-as, quando o ataque findou.
- Devia voltar para a cama, pai.
- Que és tu agora? Médico, para além de pugilista? - Sorriu. - Ouvi parte da vossa conversa.
Arthur respondeu com um sorriso conspiratório e, por instantes, sentiu a velha relação a regressar, como era antes da mudança para Londres.
- Já não te via há dias - prosseguiu o pai, franzindo o sobrolho.
- Até parece que foi há mais tempo. De facto, não me consigo lembrar da última ocasião em que tivemos uma conversa decente.
- Eu consigo. Foi há dois anos. Em Dangan.
O pai deu uma gargalhada e desatou a tossir outra vez, por algum tempo.
- Isso foi há muito tempo. A vida era muito mais calma então.
- A vida era melhor, pai.
Garrett voltou-se para observar o filho, notando que a expressão de infelicidade na cara do miúdo era palpável. Deu um apertão no ombro de Arthur.
- Não gostas mesmo disto aqui, pois não?
- Não.
Garrett assentiu.
- Devia ter reparado. Não te tenho prestado muita atenção.
- Não.
- Peço desculpa.... Tenho de admitir que estou a ficar um pouco saturado da vida aqui. É demasiado ornamental. Muito pouca substância. E muito cara. O ar também não é bom
para a minha saúde. Se calhar, devíamos sair daqui por algum tempo. Tirar umas férias. Regressar a Dangan por alguns meses. A ti, agradava-te?
- Sim. - Arthur falou com calma, mas o coração enchia-se de esperança. - Podíamos aprender juntos a peça do doutor Buckleby.
- O quê? Ah, sim. Aquela coisa do passado... Seria interessante ve-
rificar se ele ainda tem o seu toque especial. Logo que me sinta melhor, falarei com...
Foi interrompido por uma rajada de mosquete, e ambos se voltaram para a direcção de onde provinham os gritos distantes. Um ruído terrível e estridente saiu da multidão invisível,
e Arthur sentiu a espinha a tremer de frio, mal se apercebeu de que o que ouvira eram gritos de pessoas. Uma vasta massa de pessoas a gritar de terror.
- Que está a acontecer, pai?
- Não tenho a certeza. - Apurou os ouvidos. - Parece uma batalha. Ou um massacre.
Ficaram à escuta por um bocado. Mais rajadas disparadas, e os gritos continuavam sem parar, subindo e descendo de intensidade.
- Mas o que estará a acontecer além? - perguntou Anne de dentro de casa. No momento seguinte, apareceu na varanda. - Garrett! Devias estar na cama. Tu não estás...
- Silêncio! Ouçam!
Os sons da violência dispersavam-se nitidamente pelos telhados, e os olhos dela abriram-se de espanto.
- Meu Deus! Parece uma algazarra de todo o tamanho. Espero que não venha para aqui. - Beijou o marido no rosto. - Vou indo para a festa agora. Mandei o O'Shea buscar a carruagem.
- Achas que é sensato ir para a rua?
- E porque não? Aquele sarilho é na direcção oposta.
- Por enquanto.
- Oh, deixa-te disso. Não há razão para nos preocuparmos. Agora volta para a cama.
De repente, ouviram-se gritos do lado de cima da rua. A seguir, as primeiras silhuetas baças surgiram, iluminadas pelos candeeiros da rua. Enquanto os três olhavam, mais apareciam,
como ratos a abandonar um navio, algumas a gritarem de pânico. Ouviram, então, gritos em voz forte e grossa e o som de botas da tropa correndo pela rua abaixo, na direcção
da casa.
- Apanhem-nos! Apanhem esses filhos da mãe! - berrou a voz.
Agora Arthur já conseguia distinguir os soldados no meio das pessoas que fugiam rua abaixo. Tinham fixado as baionetas, e as pontas afiadas reluziam debaixo dos candeeiros,
quando os soldados encurralaram as suas presas. Arthur reteve a respiração ao ver um dos soldados a empurrar a parte de trás da cabeça de um homem com o cabo do mosquete;
quando a vítima caiu por terra, o soldado calmamente inverteu a arma e espetou a baioneta no peito do homem, torceu-a e retirou-a, antes de continuar a caçada.
De repente, ouviu-se um grito mesmo debaixo da varanda. Uma mulher avistara a família a olhar para a rua e chamava por eles.
- Deixem-nos entrar! Por piedade, deixem-nos entrar. Estão a matar-nos a todos, aqui fora!
Correu para a porta e começou aos murros na pintura envernizada. No meio da rua, um soldado parou, e Arthur reconheceu o sargento que passara ali antes. Só que agora tinha
uma espada na mão. Com grandes passadas, subiu o passeio. Com a mão livre agarrou numa parte do cabelo da mulher, arrancou-a da porta e atirou-a à sarjeta. Ela gritou, primeiro
com dores e depois com terror, quando o braço com a espada se elevou no ar. Depois a lâmina caiu, estraçalhando a pálida mão que se erguera para tentar afastar a lâmina; no
instante seguinte, ouviu-se um estalo, quando a espada abriu o crânio da mulher. Ela ali ficou, na rua, com um halo escuro lentamente a formar uma poça à roda da cara.
- Para dentro! - ordenou Garrett, empurrando a mulher e o filho para as portas. Não resistiram e afastaram-se mudos daquele horror. Garrett fechou as portas e puxou as cortinas,
impedindo que fossem vistos da rua.
- Oh, meu Deus! - murmurou Anne. - Viram aquilo? Viram o que ele fez àquela mulher? Acho que vou vomitar! Garrett... Garrett?
Arthur deu meia volta e viu que o pai agarrava o peito e emitia sons guturais de agonia, ao tentar respirar.
- Pai? - Arthur agarrou-lhe no braço. - Pai? O que se passa?
Garrett abanou a cabeça, e depois o rosto contorceu-se numa expressão de terrível agonia. Ao mesmo tempo que Anne gritava, ele tombava no chão.
Capítulo 20
- Tenho muita pena, mas o seu marido possui uma constituição fraca, minha senhora. - O médico vestia o casaco, enquanto apresentava as suas conclusões. - O coração é particularmente
susceptível ao estado anímico geral. Necessita do máximo repouso possível para o que lhe resta de vida. Em nenhum caso se deve esforçar. Faço-me entender?
Anne anuiu e voltou-se para o marido, deitado na cama, rodeado de almofadas. Os braços pendiam inertes, por cima das roupas da cama. Ela pegou-lhe na mão e apertou-a com ternura.
- Nada de preocupações, meu querido. Ouviste o médico. Tens de descansar.
- Tem mesmo - acrescentou o doutor Henderson, com uma anuência enfática -, é o seu estado que o exige, senhor.
Garrett Wesley esboçou um sorriso.
- Está bem. Estou em minoria. Rendo-me.
- Óptimo. - Anne levantou-se da cadeira, sorrindo. - Acompanho o senhor doutor à porta.
- Espera. - Garrett levantou a mão. - Senhor doutor?
- Que deseja, senhor?
- Andou a fazer as suas visitas hoje de manhã. Como estão as coisas na rua?
O médico já tinha pegado na maleta e na bengala. Bateu levemente com a bengala nas tábuas do chão.
- Terríveis, senhor. Corpos por todo o lado... e tropa... Estão a inspeccionar toda a gente, independentemente da condição social; querem saber o que andamos a fazer. É um
estado de coisas intolerável.
- De facto. - Garrett franziu a testa. - Corpos, foi o que disse? Já há alguma informação acerca do número?
- Deve haver centenas de mortos, senhor. E milhares de feridos. Já sem falar na destruição causada pelos malditos arruaceiros. Dezenas de capelas e casas católicas reduzidas
a cinza, ou destruídas sem recuperação possível. Eles até tiveram o descaramento de atacar as prisões de Newgate e de Fleet e de deixar os presos soltos na rua. Até o Banco
de Inglaterra foi atacado. Se não fosse John Wilkes e a sua milícia, o banco teria sido reduzido a cinzas também. Pode crer, caro senhor, foi por um triz que escapámos da
anarquia. Por um triz.
Anne olhou-o espantada.
- Não pode ter sido tão mau quanto diz, pois não?
O médico cerrou os lábios.
- Tenho a certeza que sim. Se não fosse o exército, a lei e a ordem ter-se-iam desfeito em fumo também. Agora, se me permite, minha senhora, tenho muitos assuntos urgentes
a tratar esta manhã. - Voltou-se para Garrett e fez uma vénia formal. - Desejo-lhe um bom dia, meu senhor.
- Muito obrigado, senhor doutor.
- Mandarei o criado com a conta mais tarde.
Garrett sorriu.
- Cujo recibo garantirá uma acelerada recuperação.
Ambos riram, e instantaneamente sobreveio-lhe um ataque de tosse, com o rosto a contorcer-se com dores e Garrett a ter de se enroscar com os punhos cerrados. Passou rapidamente,
e ele tornou a recostar-se, com o brilho do suor a cobrir-lhe a fronte. O médico apontou-lhe um dedo em sinal de aviso e depois voltou-se e saiu do quarto, afastando-se para
um lado, logo que se inteirou da presença de Arthur e Gerald, que tinham estado sub-repticiamente a observar a consulta, junto à ombreira da porta.
Eles sorriram, desculpando-se, e aprontaram-se para sair dali, quando a mãe os chamou.
- Mais vale que entrem, já que ouviram a conversa, presumo eu.
Os dois entraram no quarto e pararam aos pés da cama do pai. Este
sorriu-lhes.
- Está tudo bem, rapazes. O médico diz que desta não morro.
Anne respirou fundo e fitou o marido.
- Claro que não vais morrer. Não, se fores sensato e fizeres o que o médico te mandou. Descanso é do que precisas. Tens tempo para voltar à tua vida normal.
- Espero que sim.
- Eu também - disse Arthur em voz baixa. Não esquecera aquele momento de companheirismo que tinha partilhado com o pai, antes do colapso deste na varanda. Olhou para cima
e sorriu-lhe. - Afinal, temos de aprender a peça de Buckleby juntos.
Garrett anuiu.
- Mal posso esperar.
Anne agitou o indicador na direcção do marido.
- Tudo a seu tempo. Estás proibido de tocar no violino, até que o médico diga que estás bem o suficiente. Estás a entender a tua mulher, marido?
- Sim, querida. Dou-te a minha palavra de honra. Arthur, tens de continuar a praticar sem mim, por enquanto. Logo que possa, juntar-me-ei a ti.
- Sim, pai. - Arthur baixou o olhar. - Mas o senhor tem de cumprir essa promessa.
- Oh! Por amor de Deus! - Anne bateu com o pé no chão. - Não sejas uma criança tão egoísta! O pobre do teu pai está doente, e tu só pensas em tocar o teu precioso violino...
- Anne... - interrompeu Garrett. - Anne, minha querida, por favor. Já chega.
- Não, não chega nada! - disse ela irritada. - Há meses que ele anda amuado, queixando-se de que não lhe damos atenção suficiente. E agora, aquela carta do major Blyth sobre
a briga e o mau comportamento na escola. É de mais!
- Sim, é de mais - Garrett assentiu. - Concordo contigo. Agora, acalma-te. - Levantou-se um pouco na cama, lenta e dolorosamente. - Tenho fome. Desde ontem à noite que não
como. Podia comer uma sopinha. Tu e o Gerald podiam ir tratar disso, por favor?
- Porquê? Porque tenho de...
- Por favor, minha querida, estou esfaimado. E gostaria de ter uma conversinha com o Arthur. A sós.
Anne fitou-o espantada, mordendo o lábio de irritação. Depois, inclinou a cabeça em sinal de aceitação, pegou na mão de Gerald e saiu do quarto. Pai e filho escutaram o som
dos passos a atravessar o patamar e depois o batimento repetido nas escadas, quando Anne e Gerald desciam para a cozinha.
- Assim é melhor - sorriu Garrett e deu uma palmadinha no assento da cadeira onde Anne estivera sentada, junto à cama. - Arthur, vem sentar-te aqui.
Quando o filho ladeou a cama e se sentou, Garrett inclinou um pouco a sua posição, de forma a ver Arthur com mais facilidade. Sorriram um para o outro, pouco à vontade e mantendo
o silêncio. Por fim, Garrett respirou fundo e começou.
- A tua mãe e eu estivemos a falar de ti, dada a carta de ontem.
- Estava à espera que o fizessem.
- Arthur, por favor, não uses esse tom comigo. Estou preocupado contigo. Preocupado com o que será o teu futuro. Para ser franco, há poucos sinais de que estejas a retirar
algum benefício da ida à escola. O teu conhecimento dos clássicos é superficial, no máximo.
- Lamento desiludi-lo, pai. - Arthur franziu a testa. - Eu não tenho cabeça para o latim e o grego. A culpa não é minha.
- Bem, podias tentar empenhar-te mais.
- Com que fim? Para valer metade do que é o Richard e continuar a viver na sombra dele? Não faz sentido, pai.
- Faz sempre sentido aprender. Se continuas dessa maneira, não servirás para mais nada a não ser para soldado. E eu não te criei para fazeres parte dessa classe de dissipados
e janotas, que decoram as franjas da sociedade com os seus uniformes garridos. És melhor do que isso, Arthur.
- Sou mesmo? - perguntou num sussurro amargo.
- Chega! - explodiu o pai, mas antes que pudesse continuar, foi apanhado por outro ataque de tosse. Arthur contemplou-o preocupado, segurando com firmeza a mão do pai, até
que o ataque passou.
- Desculpe, pai. Eu não queria aborrecê-lo. Tenho tanta pena.
Garrett abanou a cabeça.
- Não tens culpa... Acontece que me orgulho de ti. És dotado para o violino, devias adorar isso. Um dia tocarás melhor do que eu algum dia poderia tocar.
- Não.
- Vais conseguir. Acredita em mim. - Garrett estendeu o braço e bateu delicadamente no peito do filho. - Confia em ti. Tens dentro de ti o que precisas para triunfar. Eu sei.
Arthur inclinou a cabeça para um lado e não respondeu.
Garrett observava a expressão do filho com atenção, tentando ler os pensamentos que eram escrutinados por detrás daquele rosto fino, que aparentava ser ainda mais fino devido
ao longo nariz. O miúdo estava consumido pela dúvida, isso era óbvio, e Garrett desejava poder fazer algo mais para o confortar. Mas tudo o que lhe podia oferecer era o amor
e a afeição de um pai. Isso não era o suficiente para sustentar um rapaz da idade de Arthur, que colocava muito mais ênfase na aprovação dos irmãos e dos pares, cujo valor
como pessoas iria ser comparado ao seu. Que triste era, reflectiu Garrett, que os filhos desejassem a boa vontade de outros e considerassem a afeição bem mais profunda dos
pais como garantida. Apertou a mão de Arthur.
- Não tenho sido um bom pai para ti, não é? Nestes últimos anos. Nunca devia ter-te negligenciado desta forma.
- Não fale, pai. Não deve aborrecer-se.
- Arthur, eu só queria poder compensar-te, enquanto há tempo.
- Que quer dizer com isso? - Arthur sentiu a pele da nuca a eriçar-se. - O médico disse que só precisava de descansar.
- Isso foi o que ele disse, e talvez ele esteja certo em relação à minha constituição. De qualquer forma, não me tenho sentido bem há meses. Tenho ficado cada dia mais fraco
e agora receio que o que quer que seja que não está bem comigo não tenha cura apenas com descanso. E estou preocupado com o teu futuro e com o futuro do resto da família.
- Não deve inquietar-se - respondeu Arthur num tom preocupado.
Garrett recostou-se nas almofadas e fechou os olhos.
- Sinto que as coisas estão a mudar, mas não para melhor. As notícias sobre a guerra nas colónias americanas são cada mês piores. Vamos perder aquela guerra, Arthur. E se
os rebeldes podem desafiar o rei, que exemplo dá isso aos descontentes por esse mundo fora? - Tossiu por um momento, clareou a voz e continuou. - Até aqui em Londres, a ordem
estabelecida está ameaçada. Ouviste o médico; há centenas de mortos, edifícios públicos saqueados e queimados e soldados na rua. Garanto-te, Arthur, que nunca vi nada parecido
e que tenho medo. Medo por todos nós. Quando a hora chegar, em que de mim mais precisem, posso já não estar cá. Ou posso, no mínimo, estar numa situação em que vos não possa
proteger.
Arthur ouvia, sem prestar muita atenção, os olhos fixos na expectoração ensanguentada que começara a escorrer dos cantos da boca do pai, pouco depois do derradeiro ataque
de tosse. Um lampejo de memória associada levou a sua mente até horas atrás, nessa manhã, pouco depois da aurora, quando parara na entrada da casa, a olhar para a rua, a ver
um dos
criados a esfregar o sangue agarrado aos degraus, onde a mulher tinha sido executada na noite anterior. O corpo já fora removido, recolhido por uma carroça do exército, que
percorrera a rua antes do alvorecer. Arthur sentira uma estranha sensação no ar matinal. A rua estava quase deserta, e um clima de medo e expectativa era evidente nos poucos
rostos que espreitavam das portas e janelas e nas expressões da mão-cheia de londrinos que circulava, evitando o olhar dos postos de soldados colocados nos cruzamentos mais
importantes da capital. O pai tinha razão em estar assustado. A lei e a ordem eram coisas frágeis. Mais frágeis do que Arthur alguma vez imaginara. Um mero véu adamascado
a cobrir um mundo muito mais feio e violento, sempre a ameaçá-lo com o caos sangrento.
A não ser que existissem homens responsáveis em número suficiente para evitar essa hipótese, tudo se desmoronaria. A nação que ele fora educado a respeitar não conseguiria
manter-se una. E depois? Arthur nem se atrevia a pensar no assunto.
Os seus pensamentos regressaram ao pai, deitado imóvel na cama ao lado. Tinha ainda os olhos fechados e agora murmurava palavras cada vez mais incoerentes, à medida que caía
num sono intranquilo. Eventualmente, o delírio parou, e os dedos que apertavam a mão de Arthur relaxaram, quando o ritmo da respiração se tornou mais calmo e fácil. Arthur
soltou a mão e quando estava certo de que o pai estava a dormir, fez uma festa na testa de Garrett. Sentiu uma estranha ternura no coração, ao inverter os papéis, com o filho
a confortar o pai. A expressão pacífica na face do pai fazia-o parecer muito mais novo e inocente do que Arthur alguma vez o vira.
O som de passos a subirem as escadas anunciava o regresso da mãe. Quando entrou no quarto, carregando um tabuleiro com uma tigela de sopa fumegante em cima, sobressaltou-se
ao ver o marido imóvel na cama.
- Garrett! - O tabuleiro inclinou-se e a tigela começou a escorregar para a ponta.
- Mãe! - Arthur apontou para o tabuleiro. - Cuidado!
Ela olhou para baixo e endireitou o tabuleiro, mesmo a tempo de evitar que a tigela caísse. Em seguida, atravessou apressada o quarto, pousou o tabuleiro no tocador e foi
em bicos de pés até à cama.
- Desculpa - sussurrou. - Eu não queria ter gritado. Só que pensei, quando o vi a dormir, por um momento pensei que ele...
- Está só a dormir, mãe. Mais nada.
- Sim, está. - Sorriu para o filho e depois fitou Garrett com um franzir de testa. - Pobre fofo. Ele não está bem.
- Ele vai melhorar, mãe.
Anne deu uma palmadinha na cara de Arthur.
- Claro que vai!
Capítulo 21
À medida que o Verão ia passando, a saúde de Garrett foi melhorando lentamente, e, no final de Agosto, já conseguia acompanhar a família em passeios curtos, em Hyde Park.
Ainda pairava um clima de tensão sobre a capital, em consequência dos tumultos de Junho. Quase todos os principais agitadores tinham sido enforcados na rua em frente às paredes
queimadas da prisão de Newgate. Quanto ao homem que tinha estado no centro da mobilização anticatólica, Charles Gordon, estava a ser julgado, e fora pedida a pena de morte
pela acusação, dividindo a sociedade londrina entre apoiantes, que o consideravam um herói e um patriota, e aqueles que queriam que o agitador da populaça fosse pendurado
na forca mais alta possível, como aviso a todos os que se sentissem tentados pelo jogo perigoso da manipulação das gentes londrinas. A cena social só agora estava a regressar
à normalidade, e os teatros e as salas de baile começaram a abrir ao público de novo, e a torrente de convites para Lorde e Lady Mornington, pouco a pouco, foi aumentando
de volume.
Porém, Garrett depressa se inteirou de que qualquer tentativa de dança rapidamente o esgotava e que já não era capaz de aguentar mais de uma ou duas horas em eventos sociais
sem sucumbir de exaustão. O início do Outono trouxe uma recaída da doença de Garrett, que, mais uma vez, o atirou para a cama com resfriados e a tal tosse, de que ele nunca
estivera totalmente recuperado. O apetite começou a falhar, e não obstante os melhores esforços do cozinheiro, foi ficando cada vez mais magro e macambúzio, sobretudo com
a chegada do novo ano, quando as garras geladas do Inverno paralisavam Londres. No início, Anne foi compreensiva com ele, mas, com o passar do tempo, o seu ressentimento aumentou,
por ter de diminuir a sua vida social, ou por ter de frequentar festas e récitas sem acompanhante, enquanto Garrett ficava em casa.
Com a chegada de Maio, e com as flores a aparecerem nos ramos das árvores, em Hyde Park, Arthur convenceu o pai a sair para um passeio a pé. Garrett ficou contente por deixar
a pesada atmosfera do seu quarto, cujas paredes se tinham tornado demasiado familiares e restritivas durante os meses de Inverno. A carruagem deixou-os num dos portões do
parque e estacionou à espera do regresso deles, junto de outros veículos. Arthur pegou no braço do pai, enquanto caminhavam lentamente sobre o caminho de gravilha, sob a copa
verdejante das árvores que ladeavam a vereda. Encontraram algumas pessoas, que Garrett não via há meses, e pararam para as cumprimentar. Viram um banco desocupado e sentaram-se.
Ao respirar fundo e ao sentir o coração a acalmar-se e a manter um ritmo mais lento,
Garrett olhou para o céu azul-claro da Primavera e sorriu. O ar fresco nos pulmões sabia-lhe bem, e uma inusitada vaga de energia inundou-lhe os membros. O chilrear dos pássaros
enchia-lhe os ouvidos, e era quase como se a Primavera o estivesse a renovar, como renovava o mundo à roda dele e do filho.
- Sinto-me bem - disse. - Melhor do que me tenho sentido há décadas.
O filho sorriu satisfeito e fez uma festa na mão enluvada do pai.
- Obrigado por me convenceres a vir dar este passeio, Arthur. Estou tão feliz por aqui estar.
- Eu também - anuiu Arthur. Depois enfrentou o pai, com esperanças renovadas. - Acha que consegue tocar violino, quando regressarmos a casa? Talvez num dueto?
- Claro. Porque não? Gostaria mesmo muito de o fazer. - Garrett ergueu-se do banco. - De facto, porque temos de esperar mais tempo? Já passou tempo de mais desde que tocámos
juntos. Vem, vamos embora.
Arthur sentiu o coração a encher-se de alegria com tal perspectiva. Todo o desapontamento e sentimento de abandono, que tinha suportado desde que viera viver para Londres,
foram esquecidos nesse instante. O pai, que só conseguira recordar durante anos, era de novo de carne e osso. Levantou-se e correu alguns passos para alcançar Garrett, que
caminhava de regresso ao portão distante, para lá do qual se encontrava a carruagem à espera.
Garrett deu uma gargalhada.
- Que é, pai?
- Estava a lembrar-me de como costumávamos correr para ver quem chegava primeiro à entrada de Dangan, de cada vez que dávamos um passeio pelo campo. Lembras-te?
- Claro que sim. Lembro-me muito bem.
- Não me digas? - Garrett fez um sorriso matreiro. - Então, vamos ver. Um, dois... - Deu um salto em frente e começou a correr, gritando para o filho por cima do ombro - ...
três!
- Pai! - gritou Arthur alarmado. - O senhor não está bem. Pare! Por favor, pare!
- Que se passa? Estás com medo de perder? Anda, Arthur, corre!
O filho já corria, cada vez mais depressa, tentando alcançar o pai, não
por orgulho, mas por medo das consequências daquele entusiasmo descontrolado do pai.
- Pare! Tem de parar!
- Ah, tenho? - perguntou Garrett ofegante, tentando incompreensivelmente alargar o passo de corrida, com pernas que a esses esforços não estavam habituadas.
- Pare, pai! Estou a pedir-lhe! - Arthur alcançou-o e estendeu o braço para lhe agarrar o ombro. Os dedos tocaram na fazenda e exerceram pressão, rodeando o ombro magro por
debaixo do casaco. Garrett desacelerou e parou. Quando se voltou para o filho, riu-se.
- Ah! Estou demasiado velho para estas brincadeiras... Estou velho...
Fez uma pausa, tentando controlar a respiração ofegante, e depois foi apanhado por um ataque de tosse, dobrando-se e sacudindo-se ao tentar enfrentá-lo, com uma mão a tapar
a boca. A tosse piorou, apoderou-se do peito e fez saltar para o chão os primeiros sinais de expectoração com sangue. Caiu de joelhos a tremer, contorcendo-se e perdendo forças,
até que deixou de se ter nas pernas e caiu para o chão.
- Pai! - gritou Arthur, ajoelhando-se no chão ao lado dele.
Garrett sentiu as mãos do rapaz por debaixo dos ombros a tentarem erguê-lo e a apertarem gentilmente a sua cabeça contra o peito do filho. Garrett ainda tossia, quando foi
possuído por uma agonia de tonturas. A visão turvou-se primeiro, para logo se tornar negra; depois, ainda lhe parecia ouvir o filho a chamar por ele, de muito longe. Depois,
nada mais.
Arthur viu as pálpebras do pai a tremerem e o corpo a ficar inerte. Garrett ainda respirava, mas cada respiração era acompanhada por um som de arranhar esforçado. Olhando
à volta, Arthur viu duas figuras de fatos de trabalho sujos a virem na sua direcção. Falavam alto e ainda não tinham reparado no pequeno drama que ocorrera na berma do caminho,
à sua frente.
- Vocês! - gritou Arthur. - Cheguem aqui! Venham cá depressa,
raios!
Ficaram paralisados, por um instante, antes de entenderem a urgência patente na voz do rapaz e o seu tom de comando. Depois, desataram a correr, apressando-se a chegar ao
local onde Arthur estava debruçado sobre Garrett:
- Tenho de levar o meu pai para casa. Ajudem-me a transportá-lo para a carruagem, que está junto ao portão.
Ao chegarem ao exterior da casa, O'Shea atirou o chicote para o lado e saltou do seu assento para a rua, precipitando-se para abrir a porta da carruagem.
- Estou aqui, menino Arthur, permita-me.
Com muito cuidado, puxou Garrett para fora da carruagem e pegou nele, como se não pesasse mais do que uma criança adormecida. Arthur saltou da carruagem e seguiu O'Shea pela
escadaria acima, estendendo de-
pois o braço para a frente do cocheiro, de modo a poder girar o puxador e a empurrar a porta para dentro.
- Leva-o para a sala de visitas - ordenou Arthur - e depois vai chamar o médico. Sabes o endereço?
- Na Wardour Street, senhor. O doutor Henderson.
- É isso.
Atravessaram o hall na direcção da pequena sala de recepções, que a família usava em ocasiões informais. O'Shea carregou Garrett até ao sofá e deitou-o com cuidado. Um rosto
surgiu à porta da sala, uma das criadas que viera ver qual era a causa de tal alarido. Deu uma olhadela à face cor de cinza do patrão e pôs, de imediato, uma mão à frente
da boca, para calar o susto.
Arthur voltou-se para ela, quando O'Shea se afastou e saiu apressado da sala.
- Sarah, onde está a minha mãe?
- Lamento muito, senhor, mas... ela levou as outras crianças às compras.
- Às compras? - Arthur quase berrou de desespero. - Onde?
- À Davis Street, senhor. Disse-nos para não os esperarmos antes da tarde.
Arthur mordeu o lábio, com a mente a galopar num pânico cego, enquanto se debatia para decidir o que fazer. O médico vinha a caminho, pelo menos. Fitou o pai, fixando a cor
de cera da sua pele e a respiração aflita. Voltou-se para a criada.
- Faça uma cama aqui no sofá. Logo que isso esteja feito, vá à Davis Street e tente encontrar a minha mãe. Diga-lhe para regressar o mais depressa possível. Diga-lhe que já
mandámos chamar o médico. Percebeu?
- Sim, senhor.
- Então, vá!
Voltando-se para o pai, começou a desabotoar-lhe o casaco e conseguiu tirar-lho pelas costas; a seguir, removeu o colarinho de seda e desapertou os botões de cima da camisa.
Durante todo o tempo, o pai manteve-se inerte, como uma boneca de trapos, e os únicos sinais de que ainda estava vivo eram a respiração e uma pulsação muito fraca, visível
por debaixo da pele do pescoço. Arthur usou o casaco para o tapar e depois foi até à lareira, para acender o fogo.
Sarah regressou com cobertores e almofadas, ergueu a cabeça do patrão com cuidado, entalando as almofadas no braço do sofá e tapando o corpo com os cobertores.
- Muito agradecido. - Arthur conseguiu sorrir. - Agora vá procurar a minha mãe.
Ela assentiu e saiu apressada. As chamas crepitavam e assobiavam na lareira, à medida que o fogo ia pegando na madeira, e Arthur deitava carvões nas chamas, antes de colocar
a grade no lugar e de regressar para junto do pai. De novo procurou sinais de vida e depois entalou os cobertores à roda do corpo inerte, apressando-se a regressar ao hall
e a abrir a porta da rua. O doutor Henderson vivia a mais de três quilómetros de distância, e O'Shea não poderia ter chegado lá ainda; por isso, sentou-se perto do pai, à
espera. O lume aquecera a sala, e um pouco de cor regressara ao rosto do pai, mas a respiração continuava atroz, e Arthur só desejava que o médico chegasse quanto antes.
Por fim, uma boa meia hora após O'Shea ter partido, ouviram-se passos apressados na escadaria da entrada e depois dentro do hall. Arthur deu um pulo e correu para a porta
da sala.
- É aqui!
- Peço desculpa, senhor - disse O'Shea ofegante. - Parti a roda da carruagem. Na sarjeta de Park Row. Tivemos de vir a correr o resto do caminho.
Respeitosamente, O'Shea afastou-se e deixou o doutor Henderson passar. Este transportava uma velha maleta preta e tinha a cara vermelha do esforço da corrida que tivera de
fazer para chegar ao seu paciente.
- Onde está ele? Já estou a ver. Agora afaste-se, meu jovem.
O médico roçou em Arthur ao entrar na sala, e pôs a maleta no chão, ao lado do sofá. Pegou na mão de Garrett e tomou o pulso, fitando Arthur em seguida.
- O seu cocheiro contou-me o que sabia da situação. O seu pai é um tolo rematado. Descanso, disse-lhe eu, não um raio de um atletismo amador. Tem sorte em estar vivo. Tenuemente
vivo, mas, seja como for, ainda vivo. Bem, já fez a sua parte, meu jovem. Agora deixe-me fazer o que tenho de fazer. - Pela primeira vez olhava directamente para Arthur e
viu o receio e a ansiedade patentes no rosto do rapaz. Falou num tom de voz mais suave. - Portou-se muito bem. Agora não há mais nada que possa fazer. O seu pai está em boas
mãos e pode confiar que farei tudo ao meu alcance para o ajudar. - Piscou o olho a Arthur. - Vá beber alguma coisa quente. Diga ao cozinheiro que eu receitei para si uma chávena
de chocolate com um trago de rum misturado.
- Sim, senhor. - Arthur deitou um derradeiro olhar desconsolado ao pai e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Não foi para a cozinha, optando por se dirigir para a
sala de visitas e por se sentar numa cadeira à janela, para ver o regresso da mãe e das outras crianças. Apurou os ouvidos para captar qualquer ruído vindo da outra sala,
mas não havia qualquer som no ar.
As horas foram passando lentamente. Chegou o meio-dia e ainda não havia sinais da mãe. Passou outra hora, e, por fim, viu Sarah a surgir apressada, a dobrar a esquina, seguida
de perto pelos outros. Arthur levantou-se e caminhou devagar para a porta, sem saber muito bem o que dizer, nem como reagir. Temia o pior, mas não queria que os outros lessem
isso na sua face. Assim, engoliu a ansiedade e tentou compor a expressão, ao ouvir os passos acelerados a percorrerem a calçada e depois a subirem os degraus até à porta da
rua. A mãe tinha ultrapassado Sarah. Correu para ele e segurou-o pelos ombros.
- Onde está ele?
- Na sala de recepções, mãe. - Arthur reparou que os lábios dela tremiam.
- Ele... ainda... está vivo?
- Sim. Estava quando o médico chegou.
- O médico está cá?
Arthur assentiu.
- Mandei-o chamar logo.
- Lindo menino!
Gerald, Anne e Henry subiram os degraus, o último de mão dada a Sarah e com a cara vermelha de cansaço e choro. A mãe voltou-se para Sarah, por breves instantes.
- Leve as crianças para o quarto de brinquedos e tome conta delas, por favor.
- Sim, minha senhora.
Ela deixou-os ao cuidado da criada e, com uma breve pausa para recuperar o fôlego e manter a compostura, entrou na sala de recepções, fechando a porta atrás de si.
No hall, as três crianças e a criada olharam-na em silêncio. Depois, Sarah tossiu e forçou um sorriso.
- Vamos lá para cima brincar. Eu conheço uns jogos muito bonitos. Vamos divertir-nos.
- Sarah? - perguntou Gerald em voz baixa. - O pai vai morrer?
- Morrer? - Sarah franziu o sobrolho. - Claro que não, meu querido. O médico está cá e vai resolver o problema. Vai ficar são que nem um pêro num instante. Agora vamos. Quem
quer jogar?
Sem esperar pela resposta, empurrou-os pela escada acima para o quarto dos brinquedos e pegou na primeira caixa que encontrou no armário. Era uma colecção de soldados de latão,
representando as duas facções envolvidas na guerra das colónias americanas.
- Óptimo! - sorriu. - Agora só temos de encontrar os berlindes...
Enquanto as quatro crianças esperavam em pé, a criada vasculhou o armário, até encontrar uma pequena bolsa de feltro cheia de berlindes chineses.
- Agora só precisamos de um campo de batalha. Este tapete deve servir. Vá lá, Arthur, ajude-me. Se pusermos uns sapatos aí debaixo, faremos uns montes.
- Porquê?
- Porquê? Ora essa! Então não haveria de haver montes? Nem seria parecido com o mundo real, nem nada!
Ela recrutou-os a todos para a ajudarem a criar algo vagamente parecido com um vale rodeado de montes, e depois começaram a colocar as tropas de cada lado. Quando tudo estava
pronto, Sarah ficou com Gerald e Henry, num lado, e Arthur com a sua irmã mais velha, Anne, no outro. Agacharam-se ao lado do tapete, onde o exército de casacas vermelhas
se estendia ao longo de uma elevação formada por roupas enroladas, metidas por debaixo do tapete. Sarah deu berlindes a cada um e explicou as regras: cada lado dispararia
os berlindes com o dedo indicador e o polegar, alternando com o outro lado, até que só restasse um soldado de pé. Esse lado seria o vencedor. Sarah provou ser perita no disparo
de berlindes, e a primeira batalha terminou rapidamente. Uma vitória estrondosa para o exército colonial de uniformes azuis. O mesmo aconteceu na segunda batalha. O orgulho
de Arthur ficou picado pelas derrotas, e, depois da segunda, olhou para Sarah e disse:
- Começa tu primeiro.
- Muito bem, menino Arthur.
Ela, Gerald e Henry dispuseram as suas forças ao longo da elevação mais distante, enquanto Arthur e a irmã esperavam pacientemente. Depois, logo que os últimos colonos foram
colocados, Arthur começou a posicionar as suas forças. Só que, desta vez, os casacas vermelhas ficaram alinhados por detrás do topo da elevação.
- Alto lá! - protestou Sarah. - Isso é batota!
- Não é nada - sorriu-lhe Arthur. - Eles estão dentro do campo de batalha. Só estou a tirar proveito da topografia. É de inteira justiça, já que tu tens, obviamente, muita
prática com os berlindes.
Sarah torceu o nariz e depois assentiu com determinação:
- Como queira, menino Arthur. Mas nós vamos tornar a ganhar.
- Achas que sim? Então vamos ver, não é?
Logo que se iniciou a terceira batalha, tornou-se visível que os casacas vermelhas tinham vantagem. Tentassem como tentassem, Sarah e os rapazes mais novos não conseguiam
encontrar o ângulo directo para atirar os seus mísseis e tiveram de acabar por recorrer a bombardeamentos de
trajectória elevada, na tentativa de apanhar as figurinhas invisíveis atrás da elevação. Não passou muito tempo até que a última figurinha azul tombasse. Arthur soltou um
grito de triunfo.
Porém, antes que o som morresse nos seus lábios, ouviu-se um grito estridente no andar de baixo. Este repetiu-se passado alguns segundos, e, desta feita, reconheceram a voz
da mãe a gritar.
- NÃO!
Anne encostou-se ao irmão e sussurrou:
- Que se passa, Arthur?
Ele não respondeu de imediato, mas apurou os ouvidos para captar o som dos gritos de desespero que fazia eco na escadaria. Levantou-se do chão, consciente de que os outros
o olhavam com intensidade.
- Fiquem aqui - disse. - Vou ver o que se passa.
Saiu do quarto, atravessou o patamar e começou a descer as escadas, sentindo a garra gelada do medo a fechar-se como um punho à roda do seu coração. Conseguia ouvir os gritos
do choro da mãe, no andar de baixo, acompanhados dos tons menos agudos da voz do médico, a oferecer-lhe indistinguíveis palavras de conforto.
Foi então que teve a irrevogável e total certeza do que acontecera e sentiu uma pequena tontura que o fez agarrar o corrimão da escada, para evitar cair. A sensação passou,
e ele prosseguiu a descida dos dois andares que restavam até ao hall de entrada. Ali estava a porta da sala de recepções, fechada como antes, mas agora atravessada pelo choro
da mãe. Arthur hesitou, depois rodou a maçaneta e entrou. Ela estava sentada no chão, junto do sofá, apertando a mão do marido contra a face. De pé, ao lado dela, estava o
médico, bastante embaraçado, pois considerava impróprio oferecer algum tipo de conforto físico a uma mulher de posição social muito acima da sua. Levantou os olhos para Arthur,
com uma expressão de alívio e afastou-se um pouco, gesticulando-lhe para que ajudasse a mãe.
Anne sentiu a sua presença e virou a cabeça para ele. Arthur ficou chocado com a expressão animalesca de dor e mágoa, que dilacerava as feições da mãe.
- Ó meu pequenino... meu pobre pequenino. Vem à mãe.
Ele encaminhou-se para ela, e, logo que ela o apertou contra o peito, Arthur sentiu o corpo da mãe a agitar-se numa convulsão, com uma nova onda de sofrimento. Por cima do
ombro dela, conseguiu fitar o rosto do pai. O corpo estava completamente imóvel, já sem aquela respiração aflitiva, que o tinha mantido vivo, até há pouco tempo. Os olhos
estavam fechados, e a cabeça caída sobre o peito, como se estivesse a dormir. Apenas as gotas de sangue, espalhadas nos lábios e na frente da camisa, denunciavam a doença
que, por fim, o vencera.
- Ele foi-se - gemeu Anne, deixando cair as lágrimas sobre os cabelos ondulados do filho. - Ele foi-se embora... deixou-nos...
Capítulo 22
O funeral de Garrett Wesley, conde de Mornington, foi um caso de pouca monta, embora uma razoável quantidade de pessoas aparecesse no serviço religioso para apresentar condolências,
ou, pelo menos, assim o afirmavam. A viúva e os filhos, vestidos de preto dos pés à cabeça, aguardavam à entrada do adro da igreja, onde recebiam os cumprimentos de quem tinha
estado presente, e se dirigia devagar pelo caminho de gravilha abaixo, na direcção da saída.
- Olhem para esta gente - murmurou Richard. - Uma verdadeira praga de gafanhotos. Credores, parentes afastados e aqueles que se autodenominam de amigos. Todos à espreita de
uma porção dos despojos.
- Já chega, Richard. - A mãe deu um apertão suave no braço do filho mais velho. - Não é aqui a ocasião, nem o lugar.
Arthur puxou pela manga da mãe:
- De que está o Richard a falar, mãe? Que é isso da porção dos despojos?
- Caluda, menino. Mostra algum decoro. Fica quieto e inclina a cabeça, como faz o Gerald.
Arthur olhou para o irmão mais novo, imóvel à beira do caminho, de cabeça baixa e cara solene.
- Ele vai saber de tudo muito em breve, mãe - disse Richard em voz baixa. - Não vale a pena esconder a verdade, não é nenhuma vergonha.
- Não é nenhuma vergonha? - sussurrou a mãe. - Vamos ver como reagirás quando nos puserem na rua.
- Mãe - retorquiu Richard com enfado. - Foi a senhora que sempre nos disse que ninguém nos iria pôr na rua.
- Ah, sim? - As sobrancelhas de Anne ergueram-se em arco. - O vosso pai foi um grande prodígio a esbanjar o dinheiro da família. Estes abutres nem têm a decência de esperar
que o corpo arrefeça na campa.
- Cale-se, mãe, que eles vêm aí.
O bispo sorriu durante os últimos passos que deu, antes de chegar ao pé da família enlutada. Primeiro ofereceu a mão a Anne.
- Minha senhora, permita-me que eu seja o primeiro a apresentar-lhe as minhas condolências?
- Foi um serviço religioso muito digno. Estou certa de que Garrett teria apreciado.
O bispo seguiu, cumprimentando o resto da família, oferecendo as
suas habituais palavras de conforto, de uma forma bem treinada. Atrás dele, chegaram os outros participantes no funeral: uma compacta procissão de membros da sociedade londrina
que se sentiam tocados o suficiente para lá irem, ou que não tinham marcado para esse dia, nas suas agendas, nenhuma outra obrigação de maior relevo. Logo que os membros da
classe mais alta passaram, seguiu-se uma sucessão de compositores e músicos, alguns mostrando tal reconhecimento pelo defúnto, que esses seus esforços para garantirem o mecenato
envergonhavam a família Wesley. Logo que o último desse grupo tinha passado, um homem com cara de poucos amigos aproximou-se de Lady Mornington e fez uma vénia com a cabeça.
- Sou Thaddeus Hamilton, minha senhora.
- Sim?
O homem sorriu.
- Era o alfaiate do senhor conde. Da Coult and Sons, em Davies Street. Talvez se recorde de ter honrado o nosso estabelecimento com a vossa presença na Primavera passada?
- Como ela continuasse a não mostrar qualquer reacção, as sobrancelhas do homem ergueram-se em arco. - O vosso marido comprou quatro camisas e dois casacos, se bem estará
recordada.
- Ah, sim? Peço desculpa, senhor... o senhor é...?
- Hamilton, minha senhora. Thaddeus Hamilton.
- Claro. Peço desculpa, parece que já foi há tanto tempo.
- Com certeza que sim, minha senhora. Compreendo que assim seja. - O alfaiate assentiu. - Uma perda trágica. É natural que todas as outras coisas sejam esquecidas, quando
comparadas com o desaparecimento de um homem tão nobre. De um compositor tão célebre. - Ele molhou os lábios, nervoso. - Um cliente tão estimável... Estou certo de que o falecido
conde teria sido generoso ao ponto de continuar a ser cliente do nosso estabelecimento e teria honrado o pagamento da conta dos casacos e das camisas que mencionei. Não fosse
pela trágica falta de saúde nos derradeiros meses da sua vida.
Lady Mornington olhou-o fixamente, com grande frieza.
- Muito obrigada por ter vindo apresentar as suas condolências, senhor Hamilton. Fique descansado que pagaremos tudo o que é devido aos credores do meu defunto marido, logo
que o nosso luto termine.
O alfaiate corou.
- Minha senhora, não queria ofendê-la. E que enviámos várias vezes a factura e...
- Será pago, senhor Hamilton. Desejo-lhe um bom dia, senhor.
O alfaiate era apenas o primeiro de muitas pessoas que deles se aproximaram, com pedidos de que as contas fossem pagas. Na altura em que
regressaram a casa, a mãe de Arthur estava furiosa e desesperada. Foi direita à sala de recepções, sentou-se no lugar do costume e desfez-se prontamente em lágrimas, sob o
olhar atento das crianças, com Gerald e Henry a seguirem o exemplo da mãe, quase de imediato. Richard levou-os para a cozinha, pediu para que lhes dessem de comer e regressou
à sala. Lady Mornington tinha conseguido controlar as suas emoções e limpava a cara com um lenço rendado, enquanto Arthur se mantinha de pé ao lado da cadeira, prendendo inseguro
a mão livre dela entre as suas.
- Nós vamos ficar bem, mãe. - Esboçou um sorriso. - Vai ver.
Ela levantou os olhos para o filho.
- Não sejas pateta, Arthur. Não percebes? Estamos cheios de dívidas. O teu pai arruinou-nos.
O sorriso desvaneceu-se nos lábios de Arthur, que tremiam agora.
- Não me parece que ele tenha gastado todo o dinheiro sozinho, mãe.
- Que é que tu disseste? - Ela virou-se na cadeira, de modo a ficar de frente para ele. Todos os traços de desgosto no seu rosto tinham sido substituídos por raiva. - Como
te atreves? Como te atreves a falar comigo dessa forma?
- É verdade - ripostou Arthur. - Todos esses vestidos caros, todos os bailes a que a senhora foi quando ele estava doente. Quem pagou tudo isso, mãe? São tanto dívidas dele
quanto suas.
- Ah, sim? - Ela retirou a mão do meio das mãos dele. - E a tua escola, as tuas roupas e aquelas miseráveis partituras que o teu pai passava o tempo a oferecer-te? Estou em
crer que foste tu quem pagou tudo isso, não foi?
- Parem! - berrou Richard da ombreira da porta. - Os dois! - Dirigiu-se a eles em passos largos. - As dívidas são da responsabilidade de todos nós. Esta discussão é inútil.
Arthur - apontou para uma cadeira -, senta-te. Preciso de falar contigo.
Richard juntou-se a ele no cadeirão, repousando o queixo sobre as mãos postas e começou a explicar:
- Estive a ver as contas do pai. Li os relatórios do agente na Irlanda e concluí que, no cômputo geral, as finanças da família não estão bem. Desde que nos mudámos para Londres,
temos vivido de empréstimos e, pelo que pude ver, não conseguimos pagar os juros, quanto mais o capital. Não podemos, de todo, continuar a viver como até agora.
Olhou para os outros, assegurando-se de que eles entendiam a importância da situação, e prosseguiu:
- Para assumir as responsabilidades do pai, terei de abandonar os meus estudos em Oxford. Isso poupar-nos-á algum dinheiro. O William pode continuar onde está, por agora.
Está a progredir bem, e seria uma pena
cortar cerce o seu talento. Quanto à senhora, mãe, deve calcular que não temos posses para manter uma propriedade deste tamanho, nem para ter tantos criados. Temos de alugar
uma casa noutro sítio. Algo que possamos pagar.
Lady Mornington observou com petulância:
- Imagino que a seguir vais exigir que eu lave a roupa também. Não tens vergonha, Richard?
Ele ignorou a interrupção da mãe e continuou:
- Por agora a Anne e o Henry podem viver com a senhora, mas eu tenho outros planos para o Gerald e o Arthur. - Voltou-se para o irmão.
- Já sei que pouco sucesso tens tido em Brown. Pelo que sei da escola, não me admira nada. Portanto, decidi mandar-vos aos dois para Eton. A família pode custear o que gastarão
no colégio com o que se poupará na renda da casa. Porém, Arthur, tens de me prometer que farás tudo para aproveitar esta oportunidade, o melhor possível.
- E se eu não quiser ir?
Richard encolheu os ombros.
- Os teus desejos não são para aqui chamados. Eu sou o chefe da família agora e decidirei o que é melhor para ti.
- Compreendo.
- Óptimo. Estamos então entendidos.
Capítulo 23
Brienne, 1782
Napoleão pousou lentamente a carta do pai, em cima da mesa de leitura da biblioteca. Era uma manhã de domingo, e ele estava só na sala. Através da janela, chegava-lhe o som
abafado dos outros estudantes a jogarem no pátio. A neve caíra durante a noite, e uma grossa camada branca brilhante cobria a paisagem árida dos arredores de Brienne. Nesse
mesmo instante, novos flocos de neve tombavam do céu, do lado de fora da janela. Nápoleão sentia o coração oprimido com o desespero.
Um mês antes, tinha atingido o seu limite como alvo das partidas de mau gosto de todo o tipo, algumas bastante cruéis, com que Alexandre de Fontaine e os seus amigos persistentemente
o atacavam. Embora não tivesse havido repetição daquela noite nos estábulos, bastava pensar nisso para ficar angustiado, enojado e cheio de ódio e rancor pelos aristocratas
sem rosto, responsáveis pelo seu tormento. Poucos dias antes do Natal, Napoleão decidiu, por fim, agir.
Escreveu uma longa carta ao pai. Nela explicava a situação da forma
mais gentil que conseguiu, já que não pretendia que o pai tomasse conhecimento da vergonha que o amargurava. Seria o acto menos generoso de todos, fazer o pai pensar que ele
se envergonhava do estatuto social da família, mesmo sendo essa a verdade. Assim, Napoleão tentou expressar-se em termos pragmáticos. Descreveu todas as actividades de que
era excluído, devido à sua situação financeira. Explicou que o quotidiano no colégio lhe estragava muito o vestuário e que sem dinheiro não podia substituir as roupas estragadas,
encontrando-se reduzido à aparência de um vagabundo. Estava preocupado por isto em nada honrar a família e, pelo contrário, poder reflectir-se na reputação da mesma. Sentia-se
culpado por isso. Em consequência, Napoleão sentia-se obrigado a pedir ao pai que lhe arranjasse uma mesada muito mais elevada, ou que o retirasse de Brienne e o educasse
na sua terra natal, onde ele se integraria bem e onde faria muito mais justiça às nobres tradições da família.
A resposta vinda de Ajaccio era uma recusa seca. O pai dizia-lhe simplesmente que não havia mais dinheiro para gastar. Que eram precisas mais coisas para ser um cavalheiro
do que dinheiro. Que se ele se portasse como devia ser e como era esperado de um cavalheiro, o pai tinha a certeza de que prosperaria em Brienne.
Dentro de si, Napoleão amaldiçoava o pai, por não conseguir ver para além das frases cuidadosas que pusera na carta, por permanecer cego à crua agonia quotidiana que era obrigado
a suportar na escola. Talvez ele devesse ter escrito de forma mais objectiva, para que o pai percebesse a profundidade da sua desventura. Outra carta, então? Ainda considerou
a hipótese por instantes, mas logo a rejeitou. Isso só o faria parecer ainda mais fraco e patético aos olhos do pai. A oportunidade para um apelo eficiente perdera-se. Tudo
o que restava a Napoleão agora era aproveitar o melhor possível a presente situação.
Impulsivo, fechou os dedos à volta da resposta do pai e amarrotou-a, até que o papel ficou transformado numa bola consistente. Napoleão virou-se, apoiando-se na mesa, fez
pontaria ao cesto dos papéis e atirou a bola nessa direcção. O projéctil atingiu a borda do cesto e caiu no chão, ao lado.
- Buona Parte! Apanhe isso já!
Napoleão deu um pulo no assento, ao ouvir o som da voz, e depois olhou para trás, por cima do ombro. O padre Dupuy acabara de entrar na biblioteca para supervisionar os leitores
da parte da manhã.
- Vá apanhar aquele papel!
- Sim, senhor! - Napoleão desceu do banco, com um pulo. Apressou-se a chegar ao pé da carta amarrotada, agarrou-a e pô-la rapidamente dentro do cesto.
- Peço desculpa, senhor. Não torna a acontecer.
O padre Dupuy, habituado ao mau humor e aos ataques de temperamento feroz do jovem corso, ficou surpreendido com a resposta tão humilde.
- Passa-se alguma coisa?
- Não, senhor.
- O que é aquele papel?
- É pessoal, senhor.
- Eu é que decidirei isso. Deixe-me vê-lo.
Não havia como evitá-lo. Napoleão foi buscar a bola de papel e colocou-a na mão estendida do professor. Com o aluno à sua frente, o professor desdobrou o papel com cuidado
e leu todo o conteúdo. Quando terminou, devolveu a carta a Napoleão.
- Sente-se.
Napoleão puxou a cadeira, arrastando-a um pouco, e sentou-se, de ombros descaídos, fitando com mágoa o professor do outro lado da mesa. O padre Dupuy sentou-se na cadeira
mesmo em frente e, cruzando os braços, retribuiu-lhe o olhar.
- Presumo que se quer ir embora, Buona Parte.
Napoleão assentiu.
- Sim, senhor.
- Compreendo. - O padre Dupuy perscrutou o jovem, por um momento, e continuou. - Será um idiota, se deixar Brienne, Napoleão. Esta instituição é a única hipótese de progresso
para gente como você e eu.
- Desculpe, senhor?
- Isto. - Acenou com a mão, indicando tudo à volta. - O colégio. E um dos poucos lugares em França onde gente da nossa origem pode sobreviver. Quanto aos aristos, logo que
saiam de Brienne, e um parente qualquer lhes arranje um cargo seguro, simpático e bem pago, terão de novo o chicote na mão. - Encolheu os ombros. - É assim que as coisas são
aqui, em França. Tem de se habituar, Buona Parte. Ou enlouquecerá, sob o peso da injustiça de tudo isto.
Napoleão irritou-se.
- Mas isso não é justo, senhor. Eu sou melhor do que eles. Muito melhor do que eles. Porque tenho de me sujeitar a ser tratado como inferior?
- Porque não há nada que possa fazer em relação a isso. Também não há nada que eu possa fazer. Essa é a maldição da nossa classe social, Buona Parte. Acredite que eu sei como
se sente. Não obstante usar o mesmo uniforme, comer na mesma mesa e ser ensinado na mesma carteira, sente que há um vasto fosso entre você e eles, que se faz sentir logo que
abrem as
bocas. Eles falam de modo diferente, pensam de modo diferente e vivem
de modo diferente. Você fica ali sentado, a desejar que tudo o que eles têm fosse seu, e, no entanto, sabe que isso nunca vai acontecer. Vamos, portanto, aceitar que o mundo
é injusto. E que faremos depois?
Napoleão encolheu os ombros.
- Mudamo-lo!
- Sozinho? Isso é exigir demasiado de um homem.
Napoleão sorriu.
- Já antes o fizeram, senhor. Já li História suficiente para o saber. Alexandre, César, Augusto, eles pegaram no mundo e reformularam-no de acordo com as suas crenças.
- Eu sei. O primeiro morreu novo, o segundo foi traído e assassinado por homens que considerava amigos, e o último tornou a República numa tirania. Não serão modelos exemplares
a seguir. Para além de que eram todos aristocratas, Buona Parte. Mais uma prova de que a História é apenas a história da classe deles. - Sorriu. - Ou será que aspira a esse
estatuto? Talvez pense que poderá ser um homem providencial... quem sabe?
Napoleão corou. Considerava esta conversa, acerca das suas mais queridas e secretas ambições, incrivelmente embaraçosa:
- A mim... não me compete dizer se assim será... senhor. Nós somos servos do destino.
- Não, não somos. - O padre Dupuy abanou a cabeça com tristeza. - Somos servos de palermas como Alexandre de Fontaine. São eles que fazem a História. Nós somos apenas a matéria
bruta usada no processo. - Olhou para Napoleão, com atenção redobrada, esperando a resposta.
- Eu não sou matéria bruta, senhor. Sou melhor do que isso. Acho que os meus registos académicos assim o atestam.
- É verdade que sim, Buona Parte. Tenho seguido a sua progressão de perto. - Sorriu de novo. - Suponho que me via apenas como professor. Isso, eu sou, de facto, mas tenho
outros interesses, como promover a qualidade, em qualquer classe social que a encontre. Talvez fique surpreendido ao saber que existem alguns aristocratas que pensam como
você, no respeitante a esta situação.
As sobrancelhas de Napoleão ergueram-se em arco.
- Deveras? Ainda estou para os conhecer.
- Oh, não deve medir a França por esta instituição. Afinal, isto é apenas uma instituição. Se quer conhecer as grandes mentes da época, tem de ir para Paris.
- O senhor acha que eu posso vir a ser alguém? - Napoleão sentiu o coração mais leve. Pela primeira vez, desde que chegara a Brienne, sentia-se como se estivesse a ser levado
a sério. Sentia que o potencial que lhe era
inerente, de que tinha tido consciência desde sempre, estava por fim a ser reconhecido. O padre Dupuy assentiu.
- Acho que sim. Para ser honesto, achei que você era um bacorinho precoce, quando chegou a Brienne, mas agora já o conheço bem o suficiente para saber que tem uma cabeça do
mais alto nível. Não obstante os fracos resultados obtidos na maior parte das minhas disciplinas.
Napoleão deu uma gargalhada. Era verdade. Embora dominasse o francês, mesmo sem eliminar o sotaque corso, era medíocre em latim e abissal a alemão, uma língua que aos seus
ouvidos soava como alguém a gargarejar e a cuspir cascalho.
- Lamento, senhor. Vou esforçar-me mais.
- E é o que deve fazer. A fluência numa série de línguas é uma ferramenta vital. Com frequência, perde-se mais na tradução do que o mero significado.
Napoleão assentiu. Estava convencido de que tinha percebido. Ou, se calhar, não tinha. A solução era óbvia: numa dada altura os homens teriam de ser obrigados a falar todos
a mesma língua.
- De qualquer forma, Buona Parte, o seu entendimento da História é excelente, e é quase um prodígio a matemática. Conquanto, devo confessar que o atributo mais impressionante
que tem é a força da sua personalidade. Claro que é também a sua maior falha. Seria bom que se lembrasse disso.
Napoleão franziu o sobrolho. Ele não se considerava casmurro. Nunca lhe tinha ocorrido ver as coisas nesses termos. Ao inverso, sempre se surpreendera com a fraqueza de espírito
que encontrava nos outros. Como a falha dos seus pares em compreender um princípio matemático, que ele imputava à preguiça ou a uma amostragem de estupidez arrogante, tão
típica daqueles aristocratas. Igualmente tinha percebido que aquelas pessoas que intimidava, até se vergarem à sua vontade, o faziam por fraqueza de carácter. A ideia de que
era inato nele ser melhor do que os outros divertiu-o por uns instantes, antes de começar a tornar-se numa convicção dentro da sua cabeça. Talvez fosse superior a alguns...
ou à maioria. Era uma proposição atraente e uma que implicitamente justificava a exactidão do juízo que fazia dos outros.
- Que pensa fazer da sua vida? - perguntou o padre Dupuy. - Depois de sair de Brienne.
- Ainda não decidi, senhor. O meu pai acha que devo ir para o exército.
- Então ainda vai precisar de conseguir uma vaga na Real Escola Militar de Paris.
Napoleão fitou-o entusiasmado.
- Quando é que me posso candidatar à escola militar, senhor?
O padre Dupuy apertou os lábios e pôs-se a pensar.
- O inspector da escola faz as avaliações no Outono para as inscrições do ano seguinte. Quinze anos é a idade mínima para admissão. O que lhe dá menos de dois anos, de agora
em diante. Duvido que esteja pronto nessa altura.
- Vou estar, senhor. Tem a minha palavra de honra.
- Óptimo. Até lá, tem de tolerar estes aristocratas. Tem de aprender que o que lhe falta em dinheiro, lhe sobra noutras riquezas. Tem um potencial que nenhum montante de dinheiro
pode comprar, Buona Parte. - Inclinou-se sobre a mesa e deu um murro suave no peito do rapaz. - Agora vá lá para fora e divirta-se. Não sei se sente o mesmo, mas, para mim,
a neve tem qualquer coisa que me refresca a alma e me faz sentir com o dobro da força e metade da idade. Portanto, vá lá!
- Sim, senhor. - Napoleão empurrou a cadeira e levantou-se. Meteu a carta do pai no bolso e dirigiu-se para a porta. A seguir parou, olhou para trás, para o padre Dupuy e
sorriu, cheio de gratidão.
- Muito obrigado, senhor.
- Napoleão, só mais uma coisa.
- Sim, senhor?
- Se vir Alexandre de Fontaine lá fora, não se esqueça de lhe atirar com uma bola de neve à minha conta.
Napoleão riu-se.
- Pode contar com isso!
Capítulo 24
A neve amontoava-se no chão, com as pegadas de centenas de rapazes, que tinham cruzado o pátio, lá marcadas. Napoleão apertou o cachecol à volta do pescoço, enfiando as pontas
para dentro do sobretudo. Calçou as luvas e caminhou em direcção aos rapazes que brincavam no campo mais à frente, pequenas figuras escuras numa paisagem branca e negra. Ao
aproximar-se, verificou que uns tantos se tinham juntado em cantos opostos do campo para atirarem bolas de neve uns aos outros. Os gritos de excitação eram abafados pelo manto
de neve.
- Ó Napoleão!
Era Louis de Bourrienne, a fazer-lhe sinal de uma das franjas da batalha das bolas de neve. Napoleão encaminhou-se para o amigo, com a neve a estalar ligeiramente sob as botas.
Os rapazes no canto do campo tinham parado a luta e reuniam-se agora num círculo. A voz estridente de Alexandre gritava-lhes para estarem calados, ao mesmo tempo que Napoleão
chegava ao pé do amigo e o cumprimentava com uma rápida inclinação de cabeça.
- Que se passa?
- O Alexandre quer organizar as coisas. Quer fazer disto uma batalha a sério.
- Então, ele quer mesmo uma batalha, não quer? - ironizou Napoleão, atravessando o grupo de colegas, até que chegou à frente, onde nenhum dos rapazes mais altos lhe podia
bloquear a visão. Ali, num espaço aberto, no meio do grupo, estava a figura imponente de Alexandre de Fontaine.
- Vai haver dois lados. Cada um numa ponta do campo. Vamos conceder-nos até que o relógio do colégio bata as doze para prepararmos as defesas, e depois a batalha começa.
- E como sabemos que acabou? - perguntou alguém.
Alexandre pensou nisso durante um minuto.
- Devíamos ter estandartes. O vencedor é o que primeiro capturar o estandarte do outro lado. - Olhou em volta e estendeu o braço a um dos rapazes mais próximos. - O teu cachecol.
Dá-mo.
- Mas, Alexandre, está frio. Preciso dele.
- Já disse para mo dares. - Estendeu a mão. - Agora.
O outro rapaz apressou-se a retirar o cachecol do pescoço e a estendê-lo a Alexandre. Este sorriu.
- Óptimo! Agora precisamos de mais um... - Olhou em volta e parou em Napoleão. - O teu. Vermelho é uma cor boa. Fico com o teu.
- Muito bem - disse Napoleão. - Toma. Na condição de não estarmos do mesmo lado.
Alexandre riu-se.
- Se tu pensas que, por um só momento que fosse, eu lutaria ao lado de um camponês corso, então ainda és mais tolo do que aquilo que eu imaginava. Claro que estaremos em lados
opostos. Melhor ainda, vou nomear-te general do teu lado. Eu comandarei os outros.
Napoleão encolheu os ombros:
- Naturalmente.
Alexandre contou as cabeças, escolheu os amigos e a maior parte dos rapazes mais altos e deixou o resto para Napoleão. Aproximou-se do inimigo e riu trocista.
- Até ao meio-dia, corso. Depois começa a batalha, e não haverá piedade.
- Já não contava com nenhuma - retorquiu Napoleão calmamente.
- Nem tu deves contar.
- Grandes palavras. Vamos ver se estarás à altura delas. - Alexandre empurrou o cachecol amarelo para as mãos de Napoleão e voltou-se para os seus seguidores. - Venham! Vamos
para ali!
Quando se afastavam, Napoleão sorriu. Depois contemplou o seu lado. Eram quase quinze rapazes a rodeá-lo. Notou de imediato a expressão de incerteza na maior parte dos rostos.
Alguns dos rapazes estavam claramente ressentidos por terem sido colocados sob o seu comando, e ele apercebeu-se de que tinha de se despachar a estabelecer a sua autoridade.
- Defesas. Precisamos de boas defesas. Comecem a juntar neve e a enrolá-la. Tragam os rolos para o canto do campo. É aí que ergueremos as nossas fortificações. Ao trabalho!
- A maior parte afastou-se, mas uns poucos permaneceram imóveis, desafiando-o com o olhar, em total desobediência. Os olhos de Napoleão brilharam de fúria, ao apontar o braço.
- Mexam-se!
Quando partiram e se dedicaram à tarefa que lhes ordenara, Napoleão respirou fundo, de alívio, e virou-se para o amigo:
- Louis, vem cá. Ajuda-me com as munições.
Trabalharam os dois depressa, amontoando a neve e enrolando-a em esferas compactas, que colocaram ao longo do muro que Napoleão escolhera para base. Quando os primeiros elementos
do seu lado lá iam penando para chegar ao canto do campo, a empurrar os rolos de neve, Napoleão deixou Louis a fazer bolas e foi dirigir a construção das defesas.
A primeira linha de defesa era um arco a todo o comprimento do canto do campo. À frente dela, Napoleão deixou um espaço e depois mandou construir mais duas linhas pegadas
de rolos com duas estreitas aberturas, que levavam até ao espaço aberto em frente à primeira muralha. Logo que as fundações foram postas, colocaram mais rolos em cima, e as
juntas foram preenchidas com neve solta, muito batida, até se transformar numa superfície firme e lisa. Napoleão partiu um ramo longo e quase direito de uma das árvores que
pendiam por cima do muro e deu um nó ao cachecol amarelo numa das pontas do pau, espetando depois o estandarte por detrás da primeira linha, para que ficasse acima de todas
elas.
- Não vão ter dificuldades em ver isso - comentou Louis.
- É essa a ideia! - respondeu o amigo em voz baixa. - Vai-lhes ser difícil resistir.
Napoleão olhou para a torre do relógio do colégio.
- Temos um quarto de hora. Estamos quase prontos. Só mais uns rolos de neve, onde são precisos, e depois darei as minhas ordens aos nossos homens.
- Homens? - Louis fitou-o, com uma expressão divertida. - Estás a levar isto muito a sério, não estás? É apenas um jogo.
- Jogo? - Napoleão cerrou os lábios. - É verdade. Mas não será o objectivo do jogo dar o nosso melhor para ganhar?
- Pensava que o objectivo de um jogo era a diversão - observou Louis, em tom de crítica suave.
Napoleão sorriu-lhe com gosto.
- A diversão é ganhar. Agora volta ao trabalho. Quero mais bolas de neve de reserva, empilhadas do lado de dentro do muro. Anda lá, Louis. Já não temos muito tempo.
Enquanto os outros rapazes davam os retoques finais nas defesas, Napoleão colocou-se atrás da primeira linha e começou a fabricar as suas bolas de neve especiais. Olhando
à volta, para ter a certeza de que não estava a ser observado, pegou em pequenas pedras e bocados soltos de massa, que retirou do muro, e cobriu-as de neve, até formarem esferas;
a seguir colocou-as em linha, aos pés do muro, mesmo em frente do estandarte. Quando terminou, correu para o espaço aberto no meio das linhas de defesa, respirou fundo e chamou
a sua equipa.
Tinha uma certa ideia da táctica que queria aplicar na batalha que se aproximava, e, enquanto falava, apercebeu-se de que os outros rapazes, mesmo os que tinham estado dispostos
a desafiar a sua autoridade anteriormente, ouviam-no agora com muita atenção, inclinando a cabeça em sinal de concordância com os esquemas apresentados. Dentro de si, Napoleão
sentiu-se a inchar de orgulho; ao mesmo tempo, sentia um enorme deleite com o prazer de estar no comando, de exercer a sua autoridade sobre outros. Quando terminou, cruzou
os braços.
- Conhecem as minhas ordens. Esperem pelos sinais, executem-nas com precisão, e o dia será nosso. Daremos a Alexandre de Fontaine uma tareia que ele não esquecerá tão depressa!
Ouvindo isto, alguém o vitoriou, grito que foi seguido pelo resto dos rapazes, que rodeavam aquela figura baixa e magra. Por um instante, Napoleão sentiu-se tentado a mostrar
a sua alegria, mas agora que era o líder tinha de controlar as suas emoções. Tinha de apresentar uma máscara de compostura. Assim, limitou-se a assentir, deixou-os ter um
momento de ruidosos vivas, e depois levantou os braços para os silenciar. A seguir gritou:
- Às vossas posições!
Quando o relógio batia as doze badaladas, um breve silêncio atravessou o campo. Até os que não estavam a participar se prepararam para observar os desenvolvimentos. Uma mão-cheia
de professores, que vira os rapazes a construírem as fortificações, saiu do edifício para assistir ao evento. Do outro lado do campo soou um desafio estridente, que ecoou
através do campo aberto e chegou aos ouvidos de Napoleão. Ele sorriu matreiro, colocou as mãos em cone à frente da boca e gritou a primeira ordem:
- Escaramuceiros!
Um pequeno grupo de rapazes, escolhidos pela sua velocidade, avançou através das passagens estreitas na linha exterior. O mais rápido transportava o estandarte que Napoleão
colocara nas suas mãos, quando soava a última badalada no sino da torre. Espalharam-se pelo campo e avançaram em direcção ao lado de Alexandre, escondendo umas tantas bolas
de neve debaixo dos casacos. Napoleão observou as defesas do outro lado e abanou a cabeça face à simplicidade do inimigo. Alexandre pouco mais tinha feito do que erguer um
pequeno baluarte com uma entrada principal. Por cima dela, ele conseguia distinguir as pequenas cabeças negras da equipa de Alexandre. Para além dela, conseguia ver a linha
vermelha, que era o seu cachecol, atado na ponta de um pau, a ser agitado para um lado e para o outro. Muito lhe faltava para ser uma defesa formidável, ou até uma necessária
à ocasião, dado que Napoleão não tinha intenção alguma de deixar que os rapazes mais frágeis e mais pequenos da sua equipa tentassem um assalto. Imóvel, em bicos de pés, com
as mãos a agarrarem o topo do muro, esticava o pescoço para seguir a progressão no terreno dos seus escaramuceiros.
Avançaram com consistência pelo campo adentro, com o estandarte amarelo um pouco atrás do final da coluna. Logo que se aproximaram das fortificações de Alexandre, as primeiras
bolas de neve foram atiradas pelas defesas do inimigo, caindo a alguns passos dos alvos, sem prejuízos. Os escaramuceiros aproximaram-se, preparando as suas próprias bolas
para as atirarem para dentro do baluarte. Mesmo assim, parecia que o outro lado não tinha a linha de ataque de Napoleão ao seu alcance. Foi então que Alexandre revelou a sua
armadilha.
Uma repentina saraivada de bolas de neve choveu em cima dos escaramuceiros, que se tinham deixado atrair até ficarem ao alcance da equipa de Alexandre. Mas Napoleão contava
com um truque tão óbvio e não resistiu a sorrir. Com um ruído boçal, a outra equipa saiu a correr da fortificação distante e aumentou de velocidade ao atravessar a neve na
direcção dos escaramuceiros de Napoleão. Só que estes já tinham dado meia volta e corriam a bom correr, fugindo para a sua base de operações. Enquanto corriam, alguns pararam
para lançar as restantes bolas aos perseguidores, para logo se virarem e acelerarem na corrida de novo, procurando refúgio. Outros limitavam-se a deixar cair as bolas e a
fugir. O rapaz do estandarte desempenhou o seu papel como um profissional, fugindo dos seus perseguidores apenas o suficiente para se manter à frente deles, mas não tão depressa
que os desmotivasse de carregarem sobre ele, na cega esperança de capturarem o estandarte amarelo e de, assim, ganharem a batalha num único golpe.
- Aí vêm eles! - gritou Napoleão. - Preparem-se!
Os rapazes da sua equipa pegaram nas bolas de neve e ergueram os braços de arremesso. Os primeiros escaramuceiros já estavam a passar pelas aberturas na linha de defesa exterior
e corriam para o fundo da mesma, perfilando-se, em seguida, de cada lado de Napoleão e de Louis. O porta-estandarte foi o último a entrar e, de imediato, colocou-se atrás
de Napoleão, onde ergueu o estandarte bem acima da cabeça e o agitou lentamente, da esquerda para a direita e vice-versa, para provocar a equipa de Alexandre.
Fora da muralha exterior, uma densa massa de rapazes juntara-se a atirar bolas aos defensores. Como Napoleão ordenara, estes começaram a atirar bolas em resposta, mas muito
mais devagar e de forma muito menos deliberada do que os atacantes, o que só elevou o grau de excitação daqueles, audível nos clamores de vitória e de desprezo dos seguidores
de Alexandre. A vista aguçada de Napoleão depressa detectou o líder, pois Alexandre chegava-se agora à frente, enquanto erguia o estandarte vermelho, que segurava numa mão.
Apontou para o cachecol amarelo dentro das muralhas de neve e gritou para os seus rapazes carregarem e o capturarem.
Com um brado estridente, avançaram a correr, dirigindo-se às duas estreitas passagens na muralha exterior. Ao passarem, encontraram-se no espaço por detrás da muralha, onde
deram de caras com a primeira linha defensiva que Napoleão construíra.
- Ao ataque! - berrou Napoleão, esquecendo-se momentaneamente de se controlar, devido à excitação da batalha que agora atingia o clímax.
- Fogo! Disparem sobre eles!
De ambos os lados, os seus companheiros atiraram uma saraivada de bolas, gritando de gozo em cada impacto. Quantos mais elementos da equipa contrária entravam no espaço em
baixo, pressionando os que já lá se encontravam, mais constituíam um alvo infalível, e as bolas caíam sobre eles, vindas de todos os lados, à queima-roupa. Uns quantos rapazes
mais corajosos não cobriam as caras e ainda tentavam atingir os rapazes debruçados no muro, por cima deles. Napoleão respirou fundo e deu uma espreitadela por cima do muro.
Viu que quase todo o lado de Alexandre se encontrava agora entre as suas linhas de defesa e abriu a boca para gritar a ordem seguinte. Nesse momento, cristais brancos de neve
explodiram-lhe na cara; o impacto paralisante da explosão provocou-lhe um choque momentâneo e consequente silêncio.
De seguida, após encher o peito de ar, determinado, elevou a voz acima da algazarra dos disparos das bolas de neve.
- Rolos, agora!
Os rapazes que tinham estado à espera da ordem meteram os ombros contra os grandes rolos de neve, que tinham estado posicionados em cada lado das aberturas da muralha exterior,
e empurraram-nos, fazendo-os ro-
lar para a frente e fechar as aberturas, encurralando o outro lado dentro das duas linhas de defesa. Agora Alexandre e os amigos estavam apanhados, sem saída nem hipótese
de usarem a neve caída no chão como munição para contra-atacarem os seus carrascos, dado que estava espezinhada e meio derretida.
Ao lado de Napoleão, Louis ria-se divertidíssimo, ao atirar bola atrás de bola às caras da outra equipa. Napoleão olhou-o de soslaio e reparou que a atenção do amigo estava
agora presa ao que se passava para além das muralhas. Dobrando-se, agarrou em algumas das suas bolas especiais e apertou-as contra o peito. Seleccionou uma e olhou para Alexandre.
O outro líder olhava à volta, desorientado, com o antebraço levantado acima da cabeça. Napoleão fez pontaria e atirou. Murmurou uma praga, ao ver a bola acertar na cabeça
de um rapaz atrás de Alexandre e ao ouvir um grito de dor agudo, quando a pedra escondida lhe cortou a têmpora. Napoleão pegou noutra, fez pontaria e atirou. Desta vez acertou
no alvo, e a bola acertou na cana-do-nariz de Alexandre. Soltando um grito, que Napoleão ouviu com clareza, Alexandre deixou-se cair no chão, com as mãos a agarrarem o rosto.
O cachecol vermelho caiu no meio do tumulto, a seu lado. De imediato, Napoleão lançou o resto das suas munições especiais, atingindo e magoando mais dois rapazes, antes de
elas se acabarem. Os gritos e choros dos que tinham sido atingidos levaram a que os restantes elementos perdessem a coragem; viraram-se e correram, abrindo a pontapé uma passagem
por entre os rolos de neve, para poderem escapar.
A correr pelo campo fora, saídos dos edifícios do colégio, vinham os professores, alarmados pelos gritos de agonia provenientes das fortificações de Napoleão.
Era óbvio que a luta estava terminada, e Napoleão saltou por cima da muralha de neve, arrastando consigo uma porção dela, ao deixar-se escorregar para o chão no lado oposto.
Levantou-se sem demoras e correu até onde Alexandre estava de joelhos, com uma mão a agarrar o nariz, enquanto gotas de sangue vermelho brilhante caíam sobre a neve suja à
sua frente. Com a outra mão, procurava alcançar o pau fino do galho, onde tinha amarrado o cachecol.
- Isso era o que tu querias! - Napoleão deu um salto, deixando cair a bota sobre os dedos de Alexandre. - Isso é meu!
Quando Alexandre conseguiu soltar a mão, Napoleão já tinha pegado no estandarte, apertando-o com firmeza debaixo do braço. Podia ouvir os gritos de vitória dos companheiros
a rodeá-lo, um segundo antes da sensação de glória o inundar, e de ser arrebatado pela alegria de vencer. Olhou para baixo e viu o ódio indisfarçável a arder nos olhos de
Alexandre. Todos os tormentos e achincalhamentos, que sofrera às mãos do jovem aristocra-
ta, dissolveram-se no momento em que olhou com desprezo para o inimigo derrotado.
- A vitória é minha, parece-me.
- Vais pagar por isto, corso. Foste tu que me atiraste a pedra.
- Prova! - Napoleão pegou no estandarte, pressionou a ponta contra o estômago de Alexandre e atirou-o para o chão de neve suja. Napoleão ergueu de novo o estandarte e fez
pontaria à cara do inimigo, mas antes que o pudesse golpear, alguém lhe agarrou no braço.
- Pára! - sussurrou-lhe Louis ao ouvido. - Que pensas tu que estás a fazer?
- Vae Victis! - disse a Alexandre, entredentes. - Larga-me o braço, Louis. Ele há muito que merece isto.
- Não! Ele já teve a sua conta, Napoleão. É apenas um jogo, já te esqueceste? E tu ganhaste. Isso é tudo o que interessa. E agora acabou.
- Não acabou - ripostou Napoleão. - Pensas que isto compensa tudo o que ele me fez?
Louis encolheu os ombros.
- Não faças isso, Napoleão. Além de que é tarde de mais. Olha.
Louis apontou para o campo, e Napoleão viu que alguns dos professores mais ágeis já tinham conseguido passar a muralha exterior. Ao penetrarem no espaço murado e ao verem
a quantidade de rapazes estonteados e a mão-cheia de vítimas ensanguentadas dos projécteis especiais de Napoleão, ficaram horrorizados, primeiro, e zangados, depois.
- Que se passa aqui? - A voz do director ecoou nas muralhas. Momentos mais tarde, ele apareceu, ofegante com o esforço, com a face envolvida pelos vapores exalados pela sua
rápida respiração. - Quem é responsável por este banho de sangue? Foi você, Buona Parte?
- Eu, senhor? - Napoleão abanou a cabeça e apontou para Alexandre, que ainda se encontrava por terra, em cima da lama. - A ideia foi do De Fontaine, senhor. Pergunte-lhe.
O director deitou um rápido olhar de suspeita a Napoleão, transferindo-o depois para Alexandre.
- Isto é verdade?
Alexandre levantou-se e tentou compor-se. Sabia que os outros rapazes o rodeavam, e que estavam tão próximos que conseguiriam ouvir qualquer palavra que dissesse ao director.
Não tinha alternativa. Tinha de admitir que era verdade.
- Sim, senhor.
- Compreendo. Então, só se terá de culpar a si próprio por esta... carnificina. Fica confinado ao colégio pelo resto do período, e são-lhe retirados os privilégios especiais.
- O director endireitou as costas e apontou
para os outros rapazes feridos. - Quanto aos outros, levem aqueles rapazes para o sanatório, o mais depressa possível.
Capítulo 25
Nos meses que se seguiram, Napoleão deixou de ser importunado por Alexandre e respectivos amigos. Ainda era visto como socialmente inferior pela maior parte dos filhos dos
aristocratas que pagava propinas, mas a arrogância deles era temperada pelo respeito provocado pela inveja da sua vitória no campo. A vitória era de tal forma abrangente,
que o padre Dupuy pediu a Napoleão para a narrar em frente da turma, sendo usada como exemplo no estudo dos cercos da Antiguidade. Naturalmente que Alexandre sugeriu algumas
modificações da sua lavra, o que teve como resposta o desprezo nada dissimulado de Napoleão, que demoliu com eficácia a contribuição do rival para o debate.
Agora que já não era perseguido, Napoleão podia concentrar-se nos estudos, e os professores ficaram agradados com as suas melhorias, tanto na atitude quanto na prestação.
Durante todo o tempo, concentrou-se na avaliação para o lugar na Real Escola Militar de Paris, que se aproximava. Estudou o currículo da escola e fez revisão das matérias
respeitantes em profundidade. Consciente da sua estatura baixa, esforçou-se por fazer mais exercício físico. A sua natureza brilhante, mas também irritadiça, parecia queimar
energia nervosa, o que contribuía para que ele não ganhasse peso e se sentisse constantemente frustrado com a sua fraca figura.
À medida que a avaliação do Outono de 1784 se aproximava, Napoleão passava longas horas no ambiente abafado da biblioteca a ler e a memorizar, tanto quanto podia. Tinha sempre
presente o conselho do padre Dupuy, de que para os não-aristocratas a única via para o sucesso era através da Escola Militar de Paris. Quanto mais cedo recebesse o seu certificado
de aprovação e uma comissão ao serviço da Coroa Francesa, mais depressa poderia construir uma carreira com significado para a sua pessoa.
No dia da avaliação, os rapazes que tinham sido seleccionados para os testes esperavam na biblioteca, até serem chamados, um de cada vez. Napoleão nunca duvidara que teria
de enfrentar este momento e, enquanto alguns dos outros rapazes se inquietavam e falavam nervosamente, ele permanecia sentado, de braços cruzados, até que, por fim, o seu
nome foi chamado.
O visitante Inspector das Escolas Militares era um oficial veterano, Monsieur Keralio. Magro e seco, usava uma peruca empoeirada, e os seus apurados olhos azuis deitaram a
Napoleão um longo olhar perscrutante, indicando-lhe uma cadeira à frente da secretária do director. Tinha uma
pasta aberta em cima da secretária à sua frente, que continha um maço de anotações.
- Cadete Buona Parte, não é verdade?
- Sim, senhor.
O inspector martelou os dedos nas notas à sua frente.
- Tem uma origem interessante. Um francês corso deve ser uma ave rara num sítio destes.
Napoleão sorriu.
- Sim, senhor.
O inspector fitou-o com atenção.
- Então, o que é o senhor afinal? Corso ou francês?
- Ambos, senhor - retorquiu Napoleão, de imediato. - Tal como outro homem pode ser normando ou da Burgúndia.
- Mas essas regiões há muito que fazem parte da França, ao contrário da Córsega. Não têm Paoli nenhum a agitar a bandeira da independência. O seu pai lutou ao lado de Paoli,
não foi?
- Sim, senhor. Isso foi há muitos anos. Hoje ele está ao serviço do conde de Marbeuf, em Ajaccio, e é um cidadão francês leaL Tal como eu sou, senhor.
- Óptimo. Fico satisfeito com isso - acrescentou o inspector em voz baixa. - Bem, caro jovem, porque quer servir nas forças de Sua Majestade?
Era a pergunta inevitável, que Napoleão esperava; tal como qualquer outro aspirante, tinha preparado com afinco e pormenor a resposta.
- É uma carreira para um homem, senhor. Uma hipótese para a aventura, talvez alguma glória, e eu amo o meu país o bastante para o querer proteger com a minha vida.
- E que país será esse, cadete Buona Parte? Parece-me que está a evitar ser específico.
- Claro que é a França, senhor.
O inspector olhou-o por um momento e abafou o riso.
- Muito bem. Uma resposta cuidadosa, cadete Buona Parte. Tem astúcia para ir longe neste mundo.
- Astúcia? - Napoleão corou.
- Astúcia, talvez. Mas também parece ter falta de padênda e falta de completo autocontrolo.
Napoleão baixou a cabeça, envergonhado de ter caído tão facilmente na armadilha.
O inspector recostou-se na cadeira e empilhou os papéis num montículo ordenado.
- Pode ir.
- Ir, senhor? É tudo?
- Sim.
Napoleão engoliu em seco, muito nervoso. A maior parte dos outros cadetes tinha tido entrevistas bem mais longas do que esta. Como se atrevia o inspector a despachá-lo, após
um interrogatório tão curto e superficial?
- Eu passei na avaliação, senhor?
- Isso, só eu sei por agora; você saberá no devido tempo, cadete Buona Parte. Faça o favor de chamar o candidato seguinte, o cadete Poilieaux.
Napoleão regressou à biblioteca e, tendo chamado o colega, sentou-se no lugar onde antes estivera e esperou que o processo de avaliação chegasse ao fim. O último entrevistado
regressou à biblioteca quando os raios de Sol do cair da tarde penetravam obliquamente pelos vidros da janela.
Ouviram-se passos a aproximarem-se no corredor, a porta abriu-se e o padre Dupuy entrou na biblioteca.
- Senhores, o director vai receber os seguintes cadetes; Boureillon, Pardedieu, Buona Parte, Salicere e Bresson. Os outros estão dispensados.
Enquanto a fila dos outros cadetes abandonava a sala, Napoleão sentiu uma corrente de alegria a percorrer-lhe as veias. Tinha sido aceite. Devia ser isso. A não ser que fossem
aqueles que agora saíam da sala que tinham passado, e o director iria agora dar as más notícias aos rejeitados. Quando já só restavam os cinco rapazes, o padre Dupuy abriu
a porta e indicou o corredor aos rapazes.
Ao passar por Napoleão, este murmurou;
- Passei?
- Tudo a seu tempo - respondeu sem hesitações o padre Dupuy.
- O director vai informá-lo do resultado.
O caminho para o gabinete do director foi feito num silêncio que denunciava o nervosismo dos aspirantes. Quando se aproximavam da porta, esta abriu-se de rompante, e o inspector
saiu para o hall.
- Muito obrigado, senhor, mais uma vez. - O inspector fez uma vénia. - É sempre um prazer visitar Brienne.
- O prazer é nosso, Monsieur Keralio - respondeu o director de dentro do gabinete.
O inspector virou-se, ao ouvir passos, e cumprimentou os cadetes com uma inclinação de cabeça. Os rapazes sentaram-se no banco junto à porta, e o padre Dupuy desapareceu para
dentro do gabinete.
- Senhores, espero tornar a vê-los no futuro.
- Muito obrigado, senhor - respondeu Napoleão.
O inspector sorriu, depois deu meia volta e afastou-se, marchando pelo corredor abaixo, na direcção da porta principal. O padre Dupuy apareceu à porta e olhou para baixo,
para Napoleão.
- Você, primeiro.
Napoleão ergueu-se imediatamente, encheu o peito de ar e entrou no gabinete. O director olhou para cima, ao ver o cadete em sentido, em frente da secretária.
- Parece que impressionou sobremaneira o meu amigo inspector.
- Pegou numa folha de papel que estava sobre a secretária e começou a ler.
- A saúde e constituição física do cadete Buona Parte são excelentes; o seu carácter é obediente, ameno, honesto e simpático; o seu comportamento é perfeitamente regular.
É bom em termos académicos, mas na dança e na esgrima é bastante medíocre. - O director sorriu. - Nem tudo são boas notícias, afinal.
Napoleão encolheu os ombros. Ele teria de evitar lutas com espadas e convívios sociais, se queria ter uma carreira de sucesso.
- Claro que o inspector baseou grande parte da sua avaliação nos relatórios dos professores e não poderia conhecer as suas... ah... qualidades tão bem como eu. Portanto, aprovou-o.
Concederam-lhe um lugar na Escola Militar de Paris, a partir do próximo Outono. Isto é, assumindo que queira preencher a vaga?
- Sim, senhor.
- Muito bem, cadete Buona Parte. É tudo. Está dispensado.
Do lado de fora do gabinete, quando o cadete seguinte entrou para tomar conhecimento do seu relatório de avaliação, Napoleão apertou a mão ao padre Dupuy, com um enorme sorriso
estampado no rosto.
- Deduzo que foi bem sucedido, não é? - gracejou o padre Dupuy.
- Estou orgulhoso de si, Buona Parte. Evoluiu muito. Muito mais do que pensa.
Capítulo 26
Houve mais felicitações, vindas de Ajaccio e de Autun, quando as notícias do sucesso de Napoleão chegaram ao resto da família. José respondeu primeiro, extasiado de alegria
e orgulho com o feito do irmão. De tal forma assim era, que ele agora estava determinado a seguir também a carreira militar. De casa, o pai escreveu-lhe a dizer que esperava
grandes coisas do filho. Carlos acrescentava que iria a uma consulta de um médico especialista, em Montpellier, por causa de uma dor persistente no estômago. Nessa altura
visitaria ambos os filhos.
Quando leu a carta do pai, Napoleão sentiu um turbilhão de sentimentos a invadir-lhe o peito. Já tinham passado mais de cinco anos desde que vira o pai pela última vez (ainda
mais tempo passara desde que vira o resto da família em Ajaccio) e todos os laços de sangue e todas as ligações a
casa, que tinham sido suprimidas durante tanto tempo, tomavam, por fim, conta dele. Nessa noite chorou, ao ponto de molhar a almofada, com o peito convulsionado pelos soluços
abafados.
O conhecimento de que o pai visitaria Brienne na Primavera ocupou a mente de Napoleão nos meses que se seguiram. O tempo parecia passar com mais lentidão do que nunca.
Por fim, a Primavera chegou. Numa tarde, no início de Maio, estava Napoleão na aula de Matemática, foi chamado ao gabinete do director. Ali, sentado em frente ao director,
estava o pai.
Carlos levantou-se da cadeira devagar, e Napoleão ficou em choque, ao reparar como estava magro e envelhecido; porém, o brilho nos olhos contrariava vivamente o seu estado
de fraqueza. Sorriu para o filho e abriu os braços.
- Meu filho... Vem cá.
Napoleão atravessou a sala. Consciente de que o director o fitava sem cessar, estendeu o braço e apertou a mão do pai, inclinando a cabeça numa vénia cortês.
- Pai. É bom vê-lo de novo.
- Sim. - Carlos franziu o sobrolho, ao verificar as mudanças que os anos tinham provocado no filho. O miúdo já não existia; no seu lugar estava um pálido adolescente. Já sabia
pelas cartas que ele e Letizia recebiam, que Napoleão era altamente inteligente e que tinha desenvolvido uma capacidade mental que já excedia a sua. Carlos voltou-se para
o director.
- Será possível ficarmos um momento a sós, senhor?
- Com certeza. - O director apontou para a janela. - Poderão dar um passeio no pomar. É muito bonito nesta época do ano.
Carlos abanou a cabeça.
- Receio já não possuir a força necessária para tais excursões. Não quero impor a minha presença, mas seria possível ficarmos aqui?
O director observou-o por um instante e depois anuiu.
- Com certeza, senhor Buona Parte. Esteja à vontade. Embora eu tenha trabalho para terminar antes da hora do jantar. Estou certo que compreenderá.
Carlos inclinou a cabeça, em agradecimento.
- É muito amável da sua parte, senhor. Tenho a certeza de que não o manteremos afastado do seu trabalho por muito tempo.
- Assim sendo, não vos incomodarei, nem por mais um segundo
- respondeu o director.
A porta fechou-se atrás dele, e Carlos virou-se para o filho, com um sorriso, e estendeu-lhe os braços.
- Mostra a este velho, que fez uma tão longa viagem, alguma afeição.
Napoleão riu-se e correu para os braços do pai, encostando a cabeça ao peito dele. Carlos deu uma gargalhada, mas parou de repente, com o rosto abalado pela dor.
- Que se passa, pai? - perguntou Napoleão aflito. - Pai?
Carlos ergueu uma mão.
- Está tudo bem. Isto passa.
Sentou-se na cadeira e fechou os olhos, respirando com calma, enquanto permanecia agarrado a uma das mãos do filho. Napoleão reparou na pele cor de cera e na forma como ela
pendia dos ossos, a fazer lembrar uma casca de queijo derretida. Por debaixo da pele e dos músculos frágeis, sentiu um tremor e, pela primeira vez, foi tocado pelo terror
da morte. O pai, que ele tomara por garantido toda a vida, era perigosamente mortal. Nunca lhe tinha passado pela cabeça que o pai morreria um dia. A morte tinha sido um facto,
como tantos outros, afastado da sua experiência de vida. Até agora. A frágil criatura que o contemplava ainda possuía a essência de Carlos Buona Parte, mas o seu corpo era
agora uma estrutura quebradiça, muito longe do sólido monumento ao bom e generoso viver, que antes tinha sido. Napoleão sentiu-se enjoado e com medo:
- O pai está a morrer...
- Não, ainda não - sorriu Carlos. - Estou doente, Napoleão. Muito doente. Por isso vim a França. Para fazer tratamentos. - Deu uma palmadinha na mão do filho. - E para te
ver, claro está. Tenho esperança de me tratar e de ficar bom de novo. Ao fim e ao cabo, nem tenho quarenta anos. Ainda sou jovem o suficiente para te dar uns murros nas orelhas,
quando estiver melhor de saúde!
Napoleão sorriu.
- Eu até gostava que isso acontecesse.
- Claro que não conseguiria ser tão bom nisso quanto a tua mãe.
- Como está ela?
- Está boa. O resto da família está toda boa. Mas ela sente a tua falta, acima de tudo.
Napoleão engoliu em seco.
- Logo que puder, irei vê-la.
- Lindo menino. Bem, agora preciso de falar contigo. Senta-te.
Napoleão puxou uma cadeira e sentou-se perto de Carlos, tentando
não mostrar a mágoa que sentia pela doença do pai.
- De que me quer falar, pai?
- É o José.
- Que tem ele?
- Diz que quer ser soldado. - Carlos fixou os olhos do filho. - Diz-me, achas que ele deve ser militar?
- Não - respondeu Napoleão, de imediato. - Ele não tem temperamento para isso. Pai, gosto muito dele, é o meu irmão mais velho, mas ele é demasiado gentil, demasiado atencioso
para tal carreira. Pensava que ele queria fazer parte da Igreja.
- E queria. Acho que as cartas que lhe escreveste o fizeram mudar de ideias. - Carlos sorriu. - Ele quer ser como tu.
- Como eu? - Napoleão estava espantado. Sofrera tantas hostilidades da maior parte dos cadetes de Brienne, ao longo dos anos, que era para ele uma grande surpresa que alguém
quisesse ser como ele. Só que o irmão seria um desastre como oficial do exército, foi a conclusão fria e racional a que chegou, num instante. José tinha de ser dissuadido.
- Napoleão, podes não ter consciência disso, mas ele sempre te viu como modelo a seguir, a partir do dia em que começaste a andar. Ele adora-te. E tem a rara qualidade de
nunca se ter ressentido por seres melhor do que ele. Temos de ser cuidadosos ao falar com o José. Irei visitá-lo de novo a Autun, antes de seguir para Montpellier. Peço-te
que lhe escrevas. Persuade-o para que lá continue e que estude para integrar o Clero. Se isso falhar, pode sempre estudar Direito. Será bem sucedido como jurista, tenho a
certeza.
- Sim, pai.
Carlos colocou uma mão a tremer sobre o ombro do filho.
- És bom rapaz. Mas dá-me grande prazer poder falar contigo como adulto.
- Muito agradecido, pai.
Carlos recostou-se na cadeira e suspirou.
- Agora estou cansado. Tenho de repousar antes da viagem de amanhã. Serás capaz de levar um velhote até à carruagem? Tenho uma lá fora no pátio, à espera.
- Vai-se embora? - Napoleão sentiu-se apunhalado à traição. - Tão depressa? Pensei que iria passar aqui uns dias.
Carlos olhou para o colo.
- Lamento, mas não posso. Tenho de me tratar, o mais depressa possível... - Os olhos brilharam para o filho. - Mas depois disso, quando estiver recuperado, regressarei a Brienne
e serei eu próprio a levar-te a Paris. Nada me dará mais orgulho do que ver-te, envergando o teu belo uniforme novo, a marchar pelos portões da Escola Militar de Paris adentro.
- Mal posso esperar.
- Agora, ajuda-me a levantar.
Napoleão amparava o braço do pai, enquanto caminhavam pelo cor-
redor fora, em direcção ao pátio. Sentia como o pai se tinha tornado leve, pouco mais pesado do que uma criança, parecia-lhe. Na carruagem, ajudou o pai a subir os degraus.
Ele deixou-se cair no assento, ofegante e a transpirar.
- Pronto. Obrigado, meu filho. Não te vou afastar das aulas, nem por mais um instante. Vai lá.
- Um momento. - Napoleão fechou a portinhola e rodou a tranca.
- Deixe-me dizer-lhe adeus.
Carlos sorriu.
- Muito bem. Condutor! Pode seguir.
Com um estalar das rédeas e um grito, o cocheiro deu ordem de marcha aos cavalos. A carruagem avançou pesadamente até aos edifícios dos estábulos, enquanto Napoleão se mantinha
imóvel, à espera. Depois, a carruagem virou um pouco de lado, e ele viu o pai à janela, a acenar-lhe. Napoleão ergueu imediatamente o braço e acenou em resposta, até que a
carruagem curvou ao fundo dos estábulos e desapareceu.
Capítulo 27
Foi no final de Outubro que Napoleão e os outros quatro cadetes de Brienne chegaram à Real Escola Militar de Paris. A escola estava situada num edifício elegante, para lá
do Champ de Mars. Tal como em Brienne, os discentes eram uma mistura de aristocratas pagadores de propinas e de bolseiros da Coroa, vivendo juntos sob o mesmo regime. Napoleão
e os seus colegas de Brienne tiveram uma breve entrevista com o capitão-comandante, um homem distinto, que se reformara recentemente de uma longa carreira no exército. Deu-lhes
os parabéns por terem conseguido ganhar o direito aos lugares na escola e encorajou-os a estudar com afinco, a merecer as comissões no exército e a servir o país e o rei honradamente.
Enquanto frequentassem a escola, seriam tratados como iguais, não obstante as diferentes origens, salientou o capitão-comandante. A escola existia para os preparar para a
vida no exército. Não era uma academia da moda para cavalheiros. Seriam testados quanto às habilitações e não quanto à árvore genealógica. Napoleão inclinou a cabeça em sinal
de satisfação, ao ouvir isto. Por fim, teria possibilidade de mostrar os seus talentos inatos, sem o travarem e sem o fazerem sentir vergonha das suas origens.
Logo que a entrevista terminou, os recém-chegados foram conduzidos aos quartos. Após as acomodações espartanas de Brienne, Napoleão ficou surpreendido e agradado com o seu
quarto luminoso e simpático, com uma grande janela, que dava para os jardins murados da escola. Foi com a cabeça plena de orgulho e satisfação que se atirou para cima da
cama e se deixou ficar deitado de costas. Fechou os olhos, com um sorriso a bailar-lhe nos lábios. Era bom de mais para ser verdade. Um lugar na escola mais prestigiada do
país e a perspectiva de uma excelente carreira à sua frente. Se a sua família o pudesse ver agora. Teriam tanto orgulho dele. Iria escrever-lhes, logo que fosse possível;
depois de ter explorado a escola e também, melhor ainda, depois de ter tido tempo para explorar a grande capital, que se estendia em todas as direcções à sua volta. Em breve
seria um oficial, daria ordens e seria responsável pelas vidas dos homens sob o seu comando. Um homem adulto assumido, com o próprio destino nas mãos.
-Olá!
Os olhos de Napoleão abriram-se de repente, e sentou-se de um pulo, removendo as botas de cima da cama. Encostado à ombreira da porta, estava um cadete de uniforme da escola.
Era um pouco mais alto do que Napoleão e mais forte. Tinha cabelos e olhos escuros e, como se sentia a ser rapidamente examinado pelo recém-chegado, deu uma gargalhada, exibindo
uma boa dentadura.
- Não te preocupes. Ninguém me mandou espiar-te. E também não mordo.
Napoleão corou e depois ficou furioso por o ter feito sentir constrangido. Mudou instantaneamente de expressão, franzindo o sobrolho. O rapaz desencostou-se da ombreira da
porta e entrou no quarto, estendendo-lhe a mão.
- Alexandre Des Mazis, às suas ordens.
Napoleão contemplou-o, aborrecido, e depois estendeu o braço e deu-lhe um breve aperto de mão.
- Napoleão Buona Parte.
- Um nome invulgar. E um sotaque. De onde és tu?
- Da Córsega.
- Ah... da Córsega. Compreendo.
- Que queres dizer com isso?
O rapaz encolheu os ombros.
- Nada.
Des Mazis notou a expressão de suspeição na cara do outro rapaz e prosseguiu.
- Não é nada. Não quer dizer nada. Eu nunca tinha conhecido nenhum corso. É só isso.
- Bem, então não te preocupes. Nós não mordemos. A não ser que a isso sejamos obrigados.
Des Mazis riu-se.
- Apoiado! Anda lá, corso. Eu mostro-te a escola, se quiseres.
Napoleão não respondeu logo, inseguro no respeitante a gostar daquele rapaz, quanto mais a confiar nele. Mas que mal poderia vir dali? Para além de que seria bom conhecer
os edifícios e os terrenos o mais cedo possível. Assentiu.
- Obrigado.
A escola era, afinal, bem mais impressionante do que aquilo que tinha sido a primeira impressão de Napoleão, quando atravessara o portão principal. Havia uma bela capela,
uma biblioteca com mais livros do que ele algum dia vira juntos, estábulos, escola de equitação, uma parada e campos recreativos. Em adição às óptimas instalações, a escola
tinha os melhores professores e uma complementar equipa de cozinheiros, enfermeiros, criados e outros serviçais. A comida era tão boa quanto a das melhores escolas de França,
garantiu-lhe Des Mazis.
- Eles vão empanturrar-te - sorriu Des Mazis. - Vão pôr carne nesses ossos.
- Eu já como que chegue - retorquiu, picado, Napoleão. - Estou aqui para aprender a ser um soldado, não um glutão.
- Talvez. Mas pode-se misturar ambição com prazer, sabes?
Des Mazis deu-lhe uma palmada no ombro e conduziu o caloiro para um grupo de estudantes, que avançava na sua direcção.
- Anda. Deixa-me apresentar-te a umas pessoas.
As únicas disciplinas especificamente militares do currículo leccionadas na escola eram esgrima e fortificações. Equitação, tiro e exercícios de combate eram ensinadas nos
quartéis dos regimentos existentes dentro de Paris e nos arredores. Tal como anteriormente, o sucesso de Napoleão era contraditório. Não obstante os melhores esforços dos
professores, não lhe conseguiram erradicar o sotaque corso. Depois de um começo lamentável a Latim e a Inglês, Napoleão pôde desistir de ambas as disciplinas, em favor de
mais aulas de Matemática e História, onde constantemente impressionava os docentes. No entanto, a péssima qualidade da caligrafia era uma fonte de desespero para os que eram
chamados a corrigir os seus trabalhos.
Fora das aulas, Napoleão descobriu que continuava a ser o objecto de chacota. Não obstante as belas tiradas do capitão-comandante acerca do espírito da escola, depressa se
apercebeu de que a maior parte dos seus colegas o tratava de forma condescendente e, por vezes, até com desprezo.
Apenas Alexandre Des Mazis se considerava seu amigo; mesmo assim, havia ocasiões em que o pavio curto do corso ardia rapidamente até ao fim, devido a uma qualquer observação
descuidada do outro acerca das suas origens, a que se seguiam dias de amuo amargo até que recuperasse da explosão. Uma vez, os dois rapazes estavam na biblioteca, pesquisando
material sobre o cerco de Malta. Tinha-lhes sido pedido para elaborarem uma descrição minuciosa do cerco, para apresentação ao resto da turma. Alexandre tinha estado a estudar
a agreste geografia da ilha e tinha curiosidade em saber como podia comparar Malta com a Córsega.
- Não me parece que se possam comparar - respondeu Napoleão.
- Pelo que li sobre Malta, é quase toda árida. A minha terra é montanhosa e verde. Há neve nos montes no Inverno e pastagens luxuriantes na Primavera...
Olhou pela janela para a rua suja e cheia de gente, lá em baixo, onde carroças circulavam e muitos dos habitantes mais pobres da capital vestiam roupas esfarrapadas e exibiam
rostos desfeados e atormentados pela fome. Sentiu saudades de casa e, como tantas vezes antes, teve uma enorme vontade repentina de se ir embora. De regressar a casa e nunca
mais voltar a França. Afastou-se da janela e viu Alexandre a fitá-lo com ar de gozo.
- Que é?
- Nada.
- Então, porque me olhas assim?
- Apenas porque tu disseste a minha terra. Estava convencido de que a Córsega hoje em dia fazia parte da França.
- Hoje em dia - assentiu Napoleão. - Mas não para sempre. Um dia seremos livres de novo.
- Oh! Deixa-te disso, Napoleão! - espicaçou-o Alexandre. - Tu falas francês, estás numa escola francesa na capital de França. Daqui a dez anos serás capitão, ou, se fores
mesmo bom, serás major do exército francês e estarás ligado por um juramento de lealdade ao rei francês. Achas que alguém poderá ser mais francês do que isso?
Napoleão abriu os olhos e manteve-se sem pestanejar, por instantes, a fuzilar o amigo com o olhar. Depois fechou a mão num punho e deu um murro ao de leve no próprio peito.
- Aqui sou corso. Sempre serei. Seja como for, duvido que os teus amigos aristocratas me deixassem esquecer isso algum dia.
- Os meus amigos aristocratas? - Alexandre sorriu. - Compreendo. É o teu país, por causa dos meus amigos. É isso, não é? Ouve, Napoleão, tu não podes fazer isto à tua pessoa.
- Fazer o quê?
- Cultivar este obtuso orgulho nas origens. É a tua forma de atingires aqueles que te atormentam. Onde vês aristocratas franceses, vês riquezas e privilégios. Como ser corso
é tudo o que tens, converteste isso numa espécie de virtude sem preço.
- Não tem preço porque é a minha identidade. Ser corso é o que faz de mim o que eu sou.
- Ah, sim? A mim parece-me que não seres um aristocrata francês é o que faz de ti o que tu és. - Alexandre fez uma pausa para que as suas palavras fossem bem retidas. - A
verdade é que não o suportas. É-te insuportável não teres dinheiro nem título.
- Que disparate! - Napoleão sentou-se na cadeira e cruzou os braços.
- Ponho-me a imaginar - prosseguiu Alexandre, com astúcia na voz - o que aconteceria se tivesses dinheiro. Dinheiro, talvez um título e algumas terras. Aí serias tão francês
como o resto de nós.
- Não, não seria. Sou corso, e isso significa para mim muito mais do que a fortuna ou o título. Significa que sou melhor do que esses janotas, cujos pais pagam bom dinheiro
para eles virem para aqui. A Córsega será livre de novo, um dia. Por causa de homens como eu. E mais ainda, seremos nós a conquistar a liberdade e teremos um país livre, com
liberdade para todos os homens. Não vai ser assim - indicou com o braço o que o rodeava, como símbolo do mundo que rejeitava -, uma tirania montada por aristocratas parasitas,
senhores de uma nação de pedintes a morrer de fome...
Alexandre fitou-o admirado.
- Meu Deus! Estás a falar a sério. Bem, como representante da classe dos parasitas, só gostava de saber porque te aproveitaste tu da nossa hospitalidade nestes últimos seis
anos? Se a Córsega é uma terra tão boa, então porque estás aqui? - Sorriu com frieza. - Parece que é preciso ser um parasita para reconhecer outro parasita.
Napoleão permaneceu em silêncio, apanhado entre o desejo de virar a sua fúria contra Alexandre e o reconhecimento de que a maior parte do que ele dissera era verdade. A consciência
dessa verdade era demasiado dolorosa para ser contemplada. Demasiado dolorosa para pedir desculpa por ela. Respirou de forma explosiva e saiu da sala de rompante. Em passo
de marcha, seguiu depois pelo corredor fora e através do pátio, passando os guardas da portaria, até que chegou à rua.
Durante horas, caminhou sem rumo pelas vias mais espaçosas e pelas transversais mais pequenas, com o rosto franzido numa expressão fixa de fúria, enquanto os pensamentos galopavam
na sua mente, misturando argumentos e justificações para a posição que assumira contra Alexandre. Porém, face a cada um deles, dava de caras com o simples facto de que se
estava a aproveitar de um sistema que dizia desprezar. Não obstante as suas afirmações de lealdade à Córsega, cada dia que treinava na Escola Militar deixava-o um dia mais
próximo de adoptar o uniforme da nação que, com baioneta e bala, tomara controlo da Córsega. Era um hipócrita, na melhor das hipóteses; um traidor, na pior. Pensar nesta palavra
feria-o ao ponto de sentir um novo ataque de fúria a rejeitar tudo à sua volta, quando, ao virar
numa esquina, foi de encontro a um homem que colava um aviso numa suja parede de cimento. O pequeno vasilhame de cola entornou-se para cima da frente da casaca de Napoleão.
O homem deu uma olhadela ao uniforme, deixou cair o pincel, voltou-se e começou a correr o mais depressa que as pernas lhe permitiam.
- Eh! - gritou-lhe Napoleão. - Olha o meu casaco. Volta aqui!
O homem olhou por cima do ombro, depois encolheu-se e desapareceu numa travessa escura e estreita.
- Filho da mãe! - ainda lhe gritou Napoleão, mas logo se apercebeu de que alguns dos transeuntes se tinham inteirado da ocorrência e se estavam a rir do seu infortúnio. Respondeu-lhes
fazendo cara de poucos amigos e depois olhou para a parede, para ver o que tinha o homem lá afixado. Um dos cantos da folha estava pendente, por não ter colado. Napoleão alisou-a
e pressionou-a com a mão contra a parede, para conseguir ler.
Numa impressão muito pobre, em letras negras carregadas, procla-mava-se que o povo de Paris já sofrera o suficiente. As recompensas para os seus trabalhos desumanos eram salários
de miséria, habitações sem condições e comida imprópria para consumo. O povo já não se sujeitaria mais a isso. Tinha de fazer ouvir a sua voz numa manifestação em frente dos
portões das Tulherias, no domingo seguinte. Só a força dos seus números faria os seus senhores tomarem consciência dos perigos da frustração e da revolta, que aumentavam em
cada dia nos corações dos homens de bem.
Napoleão abanou a cabeça. Já antes vira cartazes como estes nas ruas de Paris. Uma mão-cheia de agitadores estava por detrás deles: pequenos homens, sem poder, em luta pela
causa perdida de dar melhores condições de vida às massas. Este protesto, como todos os anteriores, teria poucos manifestantes, e, em poucos minutos, seria dispersado por
meia dúzia de soldados, que deixariam as ruas atulhadas de corpos estraçalhados e de poças de sangue, e tudo continuaria como dantes. Estes rebeldes eram muito poucos e muito
difusos para poderem desafiar o Estado, e enquanto o Estado pudesse sustentar a sua posição através do envio de forças suficientes, nada mudaria. Não fazia sentido resistir,
concluiu de imediato Napoleão. O povo de Paris já fora vencido. Não tinham ninguém que os liderasse. Tudo o que tinham eram eles próprios: uma massa amorfa e espezinhada de
habitantes dos bairros pobres.
Quando regressou à Escola Militar, encontrou Alexandre à sua espera no quarto. Napoleão parou à entrada da porta e inclinou a cabeça para um lado, levantando a cara, em sinal
de desafio.
- Então, vieste pedir desculpa?
- Não. Nada disso. - Alexandre levantou-se da cadeira junto à jane-
la e caminhou devagar até ao amigo. - Mandaram-me vir à tua procura.
- Quem te mandou?
- O capitão-comandante.
Napoleão sentiu que uma desagradável sensação de inevitabilidade se abatia sobre ele, como um peso brutal.
- Quem se queixou de mim agora? Aquele sacana do professor de dança? Um dos alunos?... Tu?
- Não. Não é nada disso. - O olhar de Alexandre oscilou por momentos. - O capitão-comandante recebeu uma carta. Da tua mãe. Como eu sou o teu único verdadeiro amigo aqui dentro,
ele adiou melhor que eu te procurasse e te levasse ao gabinete dele, para lá te explicar melhor o que se passa.
- Carta? - Napoleão sentiu uma gelada sensação de medo a percorrer-lhe a espinha. - Que aconteceu?
Alexandre mordeu o lábio, constrangido, e depois respondeu:
- O teu pai morreu.
- Morreu? - Napoleão encolheu os ombros. - Ele morreu? Como pode ser? Teve um acidente?
- Foi a doença.
- Isso não é possível. Ele ia ver um especialista. Escreveu-me depois a dizer que o problema estava a ser tratado. Ele... escreveu-me... Que aconteceu? Diz-me.
- Napoleão, é tudo o que sei. - Alexandre pegou-lhe gentilmente no braço. - O capitão-comandante vai dizer-te o resto. Vamos lá.
Napoleão ficou um instante imóvel. Depois, permitiu-se seguir o amigo até ao gabinete do capitão-comandante.
Foi tratado com bastante compreensão e, como era costume na Escola Militar, foram-lhe oferecidos os serviços de um padre para o ajudar a enfrentar a sua trágica perda. Napoleão
abanou a cabeça. Ainda estava incerto do que sentia, por isso não queria desabafar com um estranho. O pai morrera. Carlos Buona Parte morrera. Parecia impossível E, no entanto,
na última vez que o vira, não ficara com dúvida alguma em relação à falta de saúde do pai. E agora que a morte chegara, ele não conseguia aceitar a realidade de que o pai
tinha partido para sempre. Imagens do pai encheram a sua mente. De imediato se sentiu culpado por não ter expressado a sua gratidão ao pai, por tudo o que lhe tinha dado durante
a sua curta existência.
Trinta e oito anos. Tinha sido esta a extensão da sua vida. Nunca veria o resultado dos planos que tivera para a família. Não estaria lá, a dar as boas-vindas a Napoleão no
seu regresso a Ajaccio, a olhar com orgulho para o uniforme do filho. Morrer com tanto ainda por realizar, que destino terrível isso devia ser, reflectiu Napoleão para os
seus botões.
Agora todos os planos e sonhos tinham morrido com o pai. Já há semanas atrás que jaziam mortos e enterrados. Não fazia sentido fazer luto agora. Não podia deixar que esta
notícia o emasculasse. Iria usá-la como prova da sua força de carácter. Lutava contra a mágoa, quando se dirigiu ao capitão-comandante.
- Senhor, agradeço-lhe pela oferta da ajuda de um padre. Mas eu não necessito de nenhum consolo.
O capitão-comandante sorriu compreensivo.
- Não há vergonha no luto, Buona Parte. A morte está sempre connosco, e precisamos de alguém que nos ajude e nos console.
- Não eu! - disse Napoleão com firmeza. - Posso regressar ao meu quarto agora, senhor?
O capitão-comandante fitou-o, admirado e com piedade, e depois anuiu:
- Como queira. Mas a oferta mantém-se, caso mude de ideias...
- Muito obrigado, senhor, mas não o farei. Há mais alguma coisa?
- Não... Não. Pode ir.
Capítulo 28
Não houve pausa para luto. Napoleão mergulhou nos estudos, com esforços renovados, e não tornou a mencionar a morte do pai. Todos os que o rodeavam, mesmo os estudantes que
o haviam atormentado no passado, mantinham uma distância respeitosa e deixaram-no em paz. Até Alexandre sentia que Napoleão se havia retirado para o seu mundo interior; a
amizade de ambos arrefeceu até aos exames para aspirante a oficial, que tiveram lugar em Agosto de 1785. Embora frequentasse a escola há menos de um ano, Napoleão insistiu
em ser admitido às provas. O capitão-comandante lembrou-lhe que a maior parte dos rapazes só fazia exame após dois, ou até três anos de estudo na Escola Militar. Mesmo assim,
Napoleão e Alexandre fizeram o exame juntamente com quase sessenta outros rapazes. Quando os resultados foram lidos em público aos examinandos, soube-se que Napoleão ficara
em 42º lugar e o seu amigo em 56º Ambos receberam as espadas de graduados da Escola Militar e aguardaram ansiosos pela notícia das suas colocações iniciais.
- O regimento de La Fère. - Napoleão acabava de ler o que estava afixado no painel do lado de fora do gabinete do capitão-comandante. Os olhos percorreram a lista até mais
abaixo, e houve um sorriso, de imediato.
- Tu também, Alexandre. Sabes alguma coisa sobre esta unidade?
- Claro que sei! - Os olhos de Alexandre brilharam. - O meu irmão Gabriel é capitão no regimento.
- Para além das ligações familiares - disse Napoleão, pacientemente -, que mais sabes tu sobre La Fère?
- Faz parte do Real Corpo de Artilharia, destacado em Valence. - Alexandre deu um soco no ar. - Vamos ser artilheiros.
- Parece que sim. - Napoleão assentiu, com visível satisfação. Embora a cavalaria fosse uma arma mais glamorosa do que a artilharia, esta tinha uma reputação muito melhor
em termos profissionais, lembrava Napoleão para os seus botões. E, pelo menos, não era um posto na infantaria, aquela conserva do detrito intelectual e social que eram os
homens que, por motivos vários, necessitavam de uma carreira de oficial do exército. Um homem ambicioso podia deixar o nome gravado na artilharia, reflectiu Napoleão, e não
teria tanta necessidade de importância social e de um rendimento independente quando procurasse progredir na cadeia de comando. Acabou de ler os últimos pormenores no painel
e voltou-se para o amigo, sorrindo:
- É melhor prepararmo-nos. O regimento espera-nos no dia 10 de Setembro. Temos menos de duas semanas até lá.
O regimento de La Fère, como todas as unidades de artilharia, tinha as suas próprias casernas, onde os não-oficiais viviam, e as armas, as munições e outros mantimentos e
equipamentos eram guardados. Napoleão e Alexandre apresentaram as suas credenciais à sentinela do portão principal, que lhes indicou onde era o edifício do comando, que dava
para o parque de artilharia. Deixando as suas arcas na casa da guarda, os recém-chegados foram em passo de marcha até à entrada do edifício principal. Napoleão olhava para
os canhões que ia passando, com uma excitação crescente. Muito em breve estaria a carregar alguns deles de balas de quatro e oito libras de peso, expostos em linhas cuidadosamente
ordenadas no parque de artilharia.
Os dois novos oficiais subiram os degraus, entraram no edifício e perguntaram onde ficava o gabinete do comandante-adjunto.
Napoleão bateu à porta e, de imediato, uma voz rouca gritou lá de dentro:
- Não fique aí especado! Abra o raio da porta e entre!
A sala era pequena, mal chegava para os dois armários, secretária e cadeira que continha. Por trás da secretária, um homem levantou o olhar para eles, com uma expressão severa
no rosto.
- Gabriel! - gritou Alexandre. - Seu safado! Que maneiras são essas de receber o irmão mais novo?
- Tenente D es Mazis! Isso não é forma de se dirigir a um oficial superior. Ponha-se em sentido, diabos! E o seu amiguinho também.
Eles responderam no mesmo instante, perfilando-se bem direitos e
olhando em frente, até que o capitão Des Mazís não aguentou mais manter a expressão de seriedade e desatou a rir.
- Chega! À vontade, senhores.
Eles relaxaram, entreolhando-se, por não saberem bem como se dirigir ao irmão mais velho de Alexandre. Mas Gabriel já se levantara e espremera a sua larga figura entre a cadeira
e a secretária, contornando-a depois, para chegar junto do irmão e dar-lhe um abraço e um beijo em cada face.
- Quando é que chegaram? Só vos esperava daqui a dois dias.
- Estávamos com pressa de iniciar as nossas novas funções. E aqui estamos - disse Alexandre entusiasmado. - Agora apresenta-nos aos nossos homens e às nossas armas, e estamos
prontos para dar cabo de quem o rei quiser.
- Mais devagar, Alex. - O irmão deu-lhe um ligeiro soco no peito.
- Isto aqui é a artilharia. Nós somos soldados como deve ser, não é como aquelas danças da cavalaria. Tens de aprender a comandar primeiro.
- Aprender a comandar? - Napoleão ergueu uma sobrancelha.
- Que significa isso, senhor?
O capitão voltou-se para ele, com um simpático sorriso de boas-vindas.
- Tu deves ser o Buona Parte, o susceptível corso.
- Sim, senhor. - Napoleão tentou não franzir o sobrolho.
- Não te preocupes. Essa informação não me chegou pelos canais oficiais. É o que o meu irmão escreve nas cartas.
- Compreendo. - Napoleão olhou de soslaio para o amigo, e Alexandre mexeu-se, pouco à vontade, enquanto o irmão prosseguia com as informações.
- Aqui todos começamos do zero. Bem, quase todos. Aqui o jovem Alex vai estar sob escrutínio apertado, dado que recordo bem de mais o diabrete que ele era em criança. Imagine-se
o que poderia ele fazer, se lhe déssemos um canhão para a mão!
- Senhor - disse Napoleão, neutral -, estava a falar sobre aprender a comandar.
- Todos os oficiais estão sujeitos a um período probatório. Já devem saber isso, mas o regimento de La Fère vai mais longe. Nos três primeiros meses o vosso serviço será apenas
como artilheiros, até que aprendam a manejar as cordas. Depois, se satisfizerem o nosso comandante, talvez vos deixe prestar serviço como tenentes.
- Oh, não brinques! - Alexandre riu-se. - Não podes estar a falar a sério.
- Mas estou. - A expressão do capitão tornou-se mais séria. - É
uma coisa séria, a artilharia. E também muito complicada, e não vamos deixar um par de miúdos à solta com o nosso equipamento caríssimo, até que aprendam a trabalhar com ele
e com os homens que o operam, com respeito.
- Compreendo - respondeu Alexandre.- Isso significa que temos de partilhar os aposentos com os soldados também?
- O quê? Claro que não. - O capitão parecia escandalizado. - Isso seria levar as coisas longe de mais. Não lhes queremos dar ideias igualitárias, não é? - Olhou para um e
para o outro, consecutivamente.
- Não, senhor - concordou Napoleão, em voz baixa.- Não devem ter ideias acima do seu nível.
Alexandre riu-se:
- Não lhe ligues. Parece que os corsos têm um apetite insaciável por igualdade. Habituas-te a isto, não tarda nada.
O capitão lançou um breve olhar a Napoleão.
- Não me parece que seja coisa que me interesse. Esqueçam! Recebi ordens para vos instalar. Onde está a vossa bagagem?
- Deixámo-la na casa da guarda.
- Vamos lá buscá-la e depois vamos procurar alojamento para vocês na cidade.
Como em todos os outros regimentos, os oficiais da Real Artilharia deviam pagar do seu bolso o alojamento e a comida. Napoleão alugou um quarto pequeno, por dez francos por
mês, na casa de Monsieur Bou, um velhote simpático, que vivia com a filha e que gostava dos jovens oficiais que alojava. Napoleão tomava as refeições na estalagem Os Três
Pombos, por mais trinta e cinco francos por mês. Juntando-lhes o pagamento do empréstimo que contraíra para comprar o uniforme e os livros, não sobrava muito do salário de
noventa francos, que recebia por mês.
Os seus serviços como artilheiro começaram na manhã depois da chegada. Todos os dias se levantava de madrugada, vestia o casaco comprido e os calções da artilharia, ambos
totalmente azuis, e apressava-se a chegar ao quartel para se juntar aos soldados, que eram acicatados pelos seus cabos com a linguagem mais ordinária que Napoleão não tornara
a ouvir desde o tempo em que brincara com os soldados da guarnição, em Ajaccio, quando era criança.
O sargento responsável pelo seu treino era um homem baixo, gordo e com um bigode enorme. Quando a companhia estava formada na parada, veio com passos largos, pela fileira
fora, até que parou em frente de Napoleão. Pôs as mãos nas ancas e disse, com um sorriso mordaz:
- Que temos nós aqui? Outro cavalheiro, não?
- Sim, sargento.
- Nome?
- Tenente Buona Parte, sargento.
- Que se lixe essa porra! És o soldado Buona Parte, até que o coronel diga o contrário, percebeste? No entretanto, chamas-me senhor, e eu chamo-te senhor. A diferença é que
quando o disseres tu, é a sério.
- Sim, sarg... senhor.
O sargento fez uma concha com a mão, junto ao ouvido.
- Fala, senhor! Não ouvi nada.
- Eu disse sim, senhor! - gritou Napoleão, lembrando-se de que as histórias que tinha ouvido acerca da surdez dos artilheiros talvez fossem verdadeiras, afinal.
- Assim está melhor. Então, senhor, tenho um homem doente ali na Magdalene e tu vais ocupar o lugar dele. Isso quer dizer que és o segundo homem naquela arma, o homem da esponja.
Percebido? Óptimo. Vieste em bom dia. Hoje é exercício com armas.
Virou-se e prosseguiu a inspecção aos outros homens da companhia, deixando Napoleão tão baralhado como antes, quanto aos serviços que deveria prestar.
A companhia marchou até ao parque de artilharia, amarrou cordas a quatro canhões de oito libras e começou a rebocá-los até ao campo de treino. Napoleão com apenas dezasseis
anos de idade e bastante magro, depressa começou a suar abundantemente, devido ao esforço que fazia ao puxar a corda, que tinha sido amarrada ao lado direito do carro do canhão.
Mas os trabalhos do dia só agora começavam. Logo que a Magdalene ficou em posição, o sargento entregou-lhe um pau longo. Na ponta estava uma esponja, um monte denso e apertado
de lã de ovelha. Na outra ponta, uma grossa tampa de madeira.
- Isto é teu. Tomas conta dele, senhor. Ficas ali. - Indicou o terreno do lado direito do canhão e empurrou com força Napoleão para a posição.
- És o número dois. Quando eu chamar o teu número, mergulhas a esponja naquele balde ali e enfia-la pelo cano abaixo, até onde possa ir. Dás-lhe duas voltas e puxas a esponja
para fora. Depois gritas: "Limpo!". O número três é o carregador e vai pôr uma bala na entrada do cano. Quando acabar, ele grita: "Carregado!". E depois, é contigo, outra
vez. Enfias a ponta de pau no cano e empurras a carga até aonde ela vá. Depois puxas o pau, voltas à tua posição e gritas: "Pronto a disparar!". - Olhou de perto para Napoleão.
- Percebeste tudo, senhor?
- Acho que sim, senhor.
- Muito bem. Então, vamos a isso.
O sargento recuou uns passos e assumiu a posição, bem atrás do carro do canhão.
- Exercício de batalha padronizado. A arma vai disparar... BANG! Recolher... Número dois!
Napoleão marchou para o canhão e enfiou o aríete no cano, do lado da esponja.
- Pára! - O sargento apressou o passo, até chegar ao pé dele. - Não molhaste a esponja, senhor. - Apontou para um balde vazio, pendurado no carro do canhão. - Ali.
- Mas não há água ali, senhor - argumentou Napoleão.
- Também não há porra de carga nenhuma na arma, senhor. Faz de conta que há, isto é um exercício, 'tá bem?
- Compreendo. - Napoleão retirou o aríete do cano e mergulhou a esponja no balde. Olhou para o sargento e reparou que ele lhe franzia o sobrolho. - Molhar, molhar? - arriscou.
O sargento sorriu.
- Agora já estás a apanhar o jeito, senhor. Continua.
Napoleão repetiu a operação com a esponja e afastou-se para o lado.
- Limpo!
O carregador fingiu que estava a colocar um projéctil na abertura.
- Carregado!
Napoleão deu a volta ao aríete, para o lado de madeira, e empurrou a bala imaginária pelo cano abaixo; depois voltou ao lugar.
- Pronto a disparar!
- BANG! - berrou o sargento. - Boa tentativa, senhor. Mas, da próxima, vamos dar uma boa torcidela à esponja, lá dentro. É que nós não queremos que isto te rebente nos braços,
quando o fogo for real, não é?
Em adição aos exercícios de fogo, Napoleão foi ensinado a montar e a desmontar o canhão no carro, a limpar e a conservar o equipamento, a manter o uniforme limpo e as botas
brilhantes. Depois, havia ainda serviço de sentinela, rondas da guarda, marchas na estrada e treino de campo. Este último provou ser uma experiência importante para Napoleão,
após o ano anterior de boas refeições na Escola Militar. No final do dia, o sargento-mor ordenou que as panelas fossem retiradas da carroça dos mantimentos. Os ingredientes
para o rancho eram comprados a lavradores locais com o dinheiro da colecta, um saco para o qual todos os membros operadores da arma, incluindo os oficiais probatórios, tinham
de contribuir. Logo que o rancho ficou pronto, os artilheiros formaram fila em frente à panela, por ordem de antiguidade. Como Napoleão era o membro mais recente do regimento,
ficou em último lugar e apanhou com o caldo. Ainda pensou protestar e puxar pelos galões, mas lembrou-se de que iria comandar estes homens, numa questão de meses, e que não
se podia dar ao luxo de alimentar a má
vontade deles. Os homens depressa o começaram a respeitar, à medida que o tempo passava, e alguém inventou uma alcunha simpática para o jovem oficial, quando ele iniciou a
segunda fase do período probatório e passou a OSC (oficial sem comissão): o "pequeno cabo".
No começo, esta parte do treino foi dura para Napoleão, mas quando começou a conhecer os homens e a trabalhar ombro a ombro com eles, aprendeu o ofício de artilheiro ao pormenor.
No final do ano, poderia ter trocado de lugar com qualquer homem da companhia e efectuado todas as tarefas com os mesmos padrões de eficiência e efectividade. Ao inverso,
Alexandre suportava o período probatório sem esconder quanto detestava ter de efectuar tarefas servis e ter de se associar com os não-oficiais. Logo que terminava o serviço
do dia, regressava apressado à cidade, mudava de roupas e ia beber com os outros oficiais. Napoleão tendia a permanecer no quartel, a falar com os soldados e a assegurar-se
de que aprendera inteiramente tudo o que lhe fora ensinado durante o dia. Para além de que não possuía dinheiro suficiente para gastar em bebida ou com mulheres.
Por fim, quando o ano de 1786 teve início, o coronel chamou Napoleão ao gabinete. Caíra um nevão ligeiro, cobrindo os edifícios com uma fina camada branca. Napoleão puxou
o casaco para cima, apertando-o à volta dos ombros magros, subiu os degraus e fez continência à sentinela, um homem que reconheceu da companhia onde tinha estado.
- Manhã fria, Gaston.
- Sim, senhor. Se não sou rendido depressa, isto ainda congela.
- Seria uma pena. Lá se ia o sorriso daquela filha do moleiro.
Ambos se riram. Napoleão entrou no edifício e dirigiu-se ao gabinete
do comandante. A porta estava aberta, e Napoleão bateu na ombreira da porta. O coronel estava sentado junto à lareira, a aquecer as mãos por cima das brasas incandescentes.
Olhou para o lado.
- Ah, Buona Parte, entre. Puxe uma cadeira.
Quando o jovem já se encontrava sentado e também desfrutava do calor da lareira, o coronel sorriu-lhe.
- Já deve calcular do que se trata. O período probatório acabou. Foi aprovado com a nota mais alta. A partir de agora pode assumir todas as tarefas de um tenente.
- Muito obrigado, senhor. Não vou desapontá-lo.
- Folgo muito em ouvir isso. Infelizmente aquele leviano do Des Mazis terá de ficar mais um mês, ou perto disso, até que eu possa justificar o final do período probatório
dele. Ele tem um entendimento muito especial do que é a conduta esperada de um oficial. Mas vamos metê-lo na linha, logo que ele saiba que você terminou esta fase à frente
dele.
- Espero que sim, senhor - sorriu Napoleão. - Des Mazis é um
homem de bom coração. Tenho a certeza de que será um bom oficial.
- Espero sinceramente que tenha razão, meu rapaz. Ora bem, logo que o seu amigo termine a fase probatória, eu tenho um serviço para uns tantos jovens oficiais. Vai haver testes
com fogo real no arsenal de Nantes, na Primavera. Há novos modelos de canhões a serem testados, e o Ministro da Guerra pediu-me para enviar alguns observadores. Escolhi o
capitão Des Mazis para liderar o grupo. Há lugar para quatro oficiais, portanto, vou incluí-lo a si e ao jovem Des Mazis. Ainda não decidi quanto aos outros oficiais. Está
interessado?
Napoleão assentiu.
- É uma honra ter sido escolhido, senhor.
- Vai ser bom para si poder ver alguns aspectos mais vastos do ofício
- disse o coronel e, em seguida, estalou os dedos, como se, de repente, se tivesse lembrado de algum pormenor importante. - Já me esquecia! Chegou um convite de um director
de uma academia militar na região de Anjou. Eles oferecem treino a jovens cavalheiros de toda a Europa. O director está empenhado em que eles conheçam oficiais franceses da
sua idade, para fazer amizades. Ele acha que isso pode impedir, de alguma forma, que haja guerras no futuro. - O coronel abanou a cabeça. - Esperanças vãs... Seja como for,
há decerto boa comida e vinho. Pode ser que se divirta, e certamente que consegue ir até lá, no caminho para Nantes.
- Sim, senhor. - Napoleão anuiu. - E onde é que essa academia fica, exactamente?
- Um momento... - O coronel virou-se na cadeira, procurou na secretária durante uns momentos, encontrou a carta e tornou a endireitar-se. - Aqui tem. A Real Academia de Equitação,
em Angers.
Napoleão franziu a testa. Para ele era mau de mais ter de tolerar os filhos da aristocracia francesa. Agora, teria de aturar também a companhia de aristocratas estrangeiros.
A visita a Angers afigurava-se-lhe, desde já, como um pesadelo.
Capítulo 29
Eton, 1783
Com o passar dos meses, a adaptação de Arthur à nova escola foi difícil. Pela primeira vez, desde que os Wesley se tinham mudado para Londres, ele estava a viver fora de casa
e suspeitava que a mãe estivesse mais do que satisfeita com este estado de coisas. De facto, as cartas que recebia de casa quase não continham sinais de afecto genuíno por
ele, e não passavam de uma mera litania interminável de queixas acerca dos alojamentos que Ri-
chard arranjara para ela. Como podia ela passar com tão poucos criados? Já se notava, dizia ela, que muitos dos seus amigos de sociedade, de tempos anteriores, a estavam a
excluir dos seus círculos. Tudo isto era culpa dos filhos ingratos e do marido irresponsável. A única esperança que lhe restava era que a filha pudesse arranjar um bom casamento,
ou que os filhos, se fossem bons nos estudos, pudessem um dia ascender a posições de riqueza e influência significativa, que lhes permitissem providenciar uma velhice confortável
à mãe, ela que tinha tido toda uma vida dura de trabalho e sacrifício. Apenas uma vez, após ter desfiado o rol de queixas, Lady Mornington inquiriu acerca do bem-estar de
Arthur e Gerald, do progresso dos seus estudos e se necessitavam de alguma coisa. De cada vez que lia as cartas dela, Arthur punha-as de lado, com o coração pesado e uma nova
determinação em desafiá-la.
Embora fizesse todos os esforços para melhorar a sua técnica no violino, negligenciava os estudos com fria deliberação. Mais ainda, recusava sujeitar-se ao conjunto de valores
que Eton exigia aos seus alunos. Quando os outros rapazes se dedicavam ao desporto, Arthur ficava a ver, com frio distanciamento, e até lhes gritava insultos e críticas de
fora do campo, ao ponto de os professores se terem fartado da sua presença aborrecida e o mandarem embora.
Ao mesmo tempo, Bobus Smith, um dos rapazes mais velhos, aproveitava todas as oportunidades para fazer a vida negra ao caloiro, excluindo-o deliberadamente das brincadeiras
do dormitório e fazendo pouco do seu nariz comprido e das suas feições delicadas. Até a mestria de Arthur no violino era gozada, como sendo própria de um rapazinho magro e
hiper-sensível. Se Arthur sentisse que tinha um lar extremoso para onde voltar, talvez tivesse sentido saudades de casa e desejado que as férias chegassem, para poder desfrutar
da segurança e do conforto da sua família. Como as coisas estavam, Lady Momington recusou-se a permitir que ele passasse as férias com ela, alegando que não tinha espaço suficiente
para uma colónia de crianças. Em vez disso, no final do período lectivo, quando Gerald regressou a casa da mãe, a arca de Arthur foi enchida e enviada, junto com ele, para
Gales, para passar as férias no isolamento da decadente casa da avó.
Terminadas as férias, foi o regresso a Eton e a rotina quotidiana de ser picado por Bobus e amigos e de não conseguir suscitar admiração alguma nos professores, que estavam
cada vez mais inclinados a considerá-lo um pouco atrasado mental. Especialmente quando o comparavam com Gerald, que desenvolvera um rápido conhecimento dos clássicos e depressa
progredira para além do nível do irmão mais velho. E assim, os meses se arrastavam, e aumentava a sensação de que fora desterrado e abandonado pela família. Em consequência,
deixou-se cair numa profunda letargia, que
exasperava todos à sua volta. Peculiarmente, encontrou uma perversa sensação de satisfação, ao falhar nas expectativas que os outros tinham de si. Se ele estava destinado
a falhar e a não ser amado, nem admirado, então que, ao menos, fosse bom nisso.
Dois anos passaram com quase nenhumas melhorias na sua atitude, nem nas suas habilitações académicas, excepto num bom domínio da língua francesa. A sorte da família também
não melhorara durante esse período. A natureza labiríntica dos assuntos financeiros do pai consumia a maior parte do tempo de Richard, e, por isso, este estava exasperado
com a fastidiosa falta de progresso patente nos relatórios escolares de Arthur. Ele queria o melhor para o irmão e estava convencido de que Arthur tinha dentro dele o que
era preciso para ter algum tipo de sucesso, mesmo que a mãe não acreditasse nisso. Ela interpretava tal frustrante actuação como prova do seu correcto convencimento de que
ele estava destinado a falhar, opinião que tornou clara quando o filho mais velho a foi visitar, pouco depois do Natal, ao modesto apartamento alugado em Chelsea.
- Richard, ele é um caso perdido. E é um ingrato. Ele sabe que mal o conseguimos manter em Eton. O custo de vida em Londres está tão mau, que é quase um milagre eu conseguir
sobreviver. De facto, tenho estado a pensar seriamente em mudar-me para Bruxelas. Parece que lá se consegue viver bem, com uma pequena fracção do que se gasta em Londres.
Até lá, eu e tu temos de passar necessidades, de forma a poder manter o Gerald e o Arthur em Eton. E é assim que ele nos paga. Tens de falar com ele sobre isto.
- Porquê? Porque não fala a mãe?
- Não falo porque não posso. Ele já não dá ouvidos ao que eu digo.
- E a culpa é dele? Quando foi a última vez que o viu?
Lady Mornington fez um esforço de memória para se lembrar do último encontro.
- Já sei! Na Páscoa. Jantámos no Hills, antes de ele seguir para Gales, para passar lá as férias.
- Isso foi há mais de seis meses. E, no entanto, a senhora passa muito mais tempo com o Gerald, a Anne e o Henry.
- Ora, nós gostamos da companhia uns dos outros. O Arthur é diferente. Ele deixou muito claro que está ressentido comigo. Embora seja para mim um completo mistério o porquê.
- Não, não é - disse Richard com firmeza. - Para mim é claro que ele se sente ostracizado. Desde que a família se mudou para Londres, que ele se sente assim. A senhora e o
pai estavam tão ocupados a desenvolver os vossos contactos sociais, que o negligenciaram. Pelo menos o pai reco-
nheceu-o, perto do fim, e tentou compensá-lo. Mas a mãe... - Abanou a cabeça. - A senhora desistiu dele. E agora tudo indica que ele desistiu dele próprio. Pobre miúdo! Consegue
imaginar o que será sentir-se tão só, tão excluído?
Lady Mornington levou a mão à boca e mordiscou a ponta do
dedo.
- Isso é verdade? É isso que ele pensa?
- Acho que sim, mãe. Ele precisa de nós. Precisa, sobretudo, da senhora. Alguém tem de ter fé nele, ou ele desistirá da vida.
Lady Mornington permaneceu pensativa por instantes e depois assentiu.
- Muito bem. Tenho de me esforçar mais para passar mais tempo com ele. Esta Páscoa, ele vai passar as férias comigo.
- Isso será um bom começo - respondeu Richard, com tacto. - E até lá, escreva-lhe com frequência e mostre interesse pela vida dele. E depois, pode ser que consigamos algum
progresso.
- E se não conseguirmos?
Richard olhou para as mãos, e, pela primeira vez, Anne viu nele o homem em que se tinha tornado, sobrecarregado com as responsabilidades que lhe tinham fechado a porta da
infância para sempre. Os traços do seu rosto tinham já marcas de sulcos. Richard fitou-a, com uma expressão triste.
- Se não tivermos nenhum progresso este ano, então, tenho muita pena, mas teremos de tirá-lo de Eton. Precisamos de todo o dinheiro necessário para manter o Gerald no colégio
até ao fim. Ele está a sair-se bem, muito bem mesmo, e o dinheiro será mais bem gasto com ele.
- Se tirares de lá o Arthur, o que vai ser dele?
- Não há muito por onde escolher. Se nada fizer na escola, terá de ir para a Igreja ou para a tropa. Acredite que desejo algo melhor para ele, mas temos de ser realistas.
Podemos tentar salvá-lo dele próprio, mas não posso deixar de sentir que já é demasiado tarde. O mal está feito.
- Compreendo. Tudo depende, então, dos resultados deste ano?
Richard anuiu.
- É a última hipótese que ele tem.
Era a semana anterior ao fim da Quaresma, um dia quente para aquela altura do ano. A maior parte dos rapazes já tirara os casacos para brincar à vontade nas margens do Tamisa.
O Sol brilhava num céu turquesa límpido, e Arthur observava os outros rapazes, da sombra de um carvalho. Estava encostado ao tronco e estivera a ler uma antologia de poesia
que requisitara na biblioteca do colégio. Mas as palavras impressas no papel depressa
perderam a atracção, comparadas com a magia estética muito superior trazida pela chegada da Primavera, num dia tão esplendoroso; a sua atenção desviou-se do livro e estendeu-se
ao longo do relvado, até ao declive suave junto ao rio, lá ao fundo.
Pela primeira vez, em meses, Arthur sentiu uma avalanche de prazer e contentamento a percorrer-lhe o corpo. Daí a uns dias, nas férias da Páscoa, voltaria para casa, para
junto da mãe, e não para o exílio nas montanhas enevoadas de Gales. Até já tinha planeado uma série de excursões, para visitar os locais mais interessantes de Londres e para
assistir aos melhores recitais públicos que a capital tivesse para oferecer. Arthur pretendia fazer de novo parte da família; não queria ser um embaraço para ela.
Salpicos brancos e brilhantes atraíram a sua atenção para o rio, onde viu que um grupo de rapazes tinha mergulhado e nadava agora em direcção à outra margem. As suas roupas
tinham ficado em montinhos na margem de cá do rio. Por um momento, Arthur sentiu-se tentado, em extremo, a fazer-lhes companhia.
- E porque não? - disse em voz alta. - Porque não posso eu fazê-
-lo?
Fechou o livro de poesia, levantou-se de um pulo e, antes que pudesse mudar de ideias, começou a descer em direcção ao rio, com passos longos e firmes. Lá em baixo, os rapazes
tinham atingido a outra margem, e Arthur reconheceu-os, ao aproximar-se: Bobus Smith e os seus amigos. Antes que pudesse mudar de direcção para um local diferente na margem
do rio, Smith viu-o e, colocando as mãos em cone à frente da boca, gritou de dentro do rio para Arthur:
- Wesley! Ó Wesley! Não vens dar um mergulho?
Arthur sentiu um peso no coração. Tudo o que desejava era um banho agradável sozinho. E agora Bobus Smith vira-o e, indubitavelmente, não lhe iria deixar gozar o momento em
paz. Muito bem, ele teria de encontrar um novo local para nadar, fora da vista dos outros rapazes.
- Então, não vens? - gritou Smith de novo.
Arthur abanou a cabeça. Depois, para ter a certeza de que o percebiam, respondeu também aos gritos:
- Não. Tenho um livro para ler. - Exibiu o livro de poesia para fazer prova das suas intenções.
- Rato de biblioteca! - gritou alguém e, automaticamente, os outros repetiram o insulto, numa coordenação instintiva que levou a uma cantilena, que ressoou pelo rio fora,
fazendo com que as cabeças de quem estava nas margens se voltassem para Arthur. O seu rosto corou de embaraço e raiva, e afastou-se do rio e iniciou a caminhada pela vereda,
para longe dos seus torturadores. Ainda não se tinha afastado muito, quando ouviu cha-
pinhar atrás de si. Olhando por cima do ombro, viu que Bobus Smith e os amigos nadavam ao longo do rio, tentando acompanhá-lo, alguns ainda aos gritos, enquanto esbracejavam
contra a corrente:
- Rato de biblioteca! Rato de biblioteca!
Arthur cerrou os dentes e parou de repente. Não que ele se importasse que o considerassem livresco, sobretudo com as fracas notas que tinha. Ao inverso, isso até lhe oferecia
uma desculpa para recusar tomar parte nos jogos físicos. O que o enfurecia agora era saber que Smith não o deixaria em paz. Iria segui-lo ao longo do rio, e se ele virasse
noutra direcção, estava certo que o assombrariam como chacais. Se saísse dali e regressasse à escola, seria mais uma vitória indigna na campanha de intimidação contra ele,
em que Smith e os seus amigos tanto se empenhavam.
- Maldito sejas, Smith! - berrou. - Maldito sejas tu e esses tarados do Inferno!
- Que é que tu disseste, Wesley? - gritou Bobus, enquanto nadava para a margem.- Vomita, homem! Se é que és homem!
Sem pensar no que fazia, Arthur inclinou-se para a frente, pegou numa mão-cheia de cascalho do caminho e começou a atirá-la contra o seu perseguidor. Uma chuva de pequenos
seixos e bocados de cascalho atravessou o ar e foi caindo sobre a água à volta de Smith, com alguns a atingirem-lhe a face. Ele deu um grito, mais de surpresa do que de dor,
e, com um urro de raiva, começou a nadar depressa, direito a Arthur.
As entranhas de Arthur gelaram, quando olhou para o rio. Não desejava nem por nada ter de lutar com Smith num dia daqueles, e a perspectiva de aniquilamento da sua boa disposição
enchia-lhe o coração de raiva em ebulição e de ressentimento.
Está bem, então, murmurou de si para si. Deixou cair o livro na relva e fechou os punhos, quando viu que Smith tentava sair do rio, procurando um apoio para os pés e, depois,
atirando-se para fora da água como uma rocha a ser cuspida do mar. Não houve preâmbulo, nem posições de ataque estudadas, apenas uma luta descontrolada, com Smith nu e a escorrer
água a atirar-se para a frente. Arthur agachou-se, para baixar o seu ponto de equilíbrio, e elevou os punhos. No último momento antes do contacto, esgueirou-se para o lado
e esticou o pé, esperando fazer tropeçar o adversário. Porém, o movimento saiu fora de tempo. Em vez de fazer tropeçar Smith, o sapato pisou-lhe os dedos com um estalido bem
audível, e Smith caiu para a frente, gritando de dor. Arthur ficou demasiado chocado com o seu erro para fazer fosse o que fosse. Relaxou os pulsos e preparava-se para pedir
desculpa, quando viu o olhar impiedoso de ódio estampado no rosto de Smith. Qualquer hesitação seria agora fatal. Arthur cerrou de novo os punhos e aproximou-se de Smith.
Puxou o pé atrás e deu-lhe um pontapé no
joelho, provocando outro grito de dor, seguido de outro pontapé no mesmo joelho e de uma pisadela no outro pé. Quando Smith, que já nem parava de gritar, tentou agarrar os
dedos do pé, Arthur deu a volta e atingiu-lhe a cabeça com vários golpes. E, finalmente, com toda a força que possuía, atirou o punho contra o nariz achatado de Smith. Quando
os nós da mão tocaram no nariz, Arthur sentiu que o golpe lhe permitia esticar o braço até à zona do ombro. A cabeça de Smith tombou para trás, e ele caiu desamparado no relvado
e ficou imóvel.
Arthur fitou-o espantado.
- Meu Deus! Que fiz eu?
Houve um momento de silêncio, antes de os outros rapazes que estavam na margem do rio se começarem a mover, com hesitação, na sua direcção. Ouviu-se chapinhar no rio, ao aproximarem-se
da margem, nadando, os amigos de Smith. O círculo formado à roda de Arthur e Smith, inerte no relvado, esperava-os. Olharam primeiro para Smith e depois para Arthur, e ele
notou o nervosismo nos seus rostos. Um deles olhou-o directamente nos olhos e deu um assentimento de aprovação. Um rapaz baixo, caloiro, conseguiu chegar-se à frente da multidão
e ficou especado, de olhos esbugalhados e boca aberta.
- Mas... este é o Bobus Smith! - disse com a voz plena de excitação. Depois olhou atónito para Arthur e perguntou: - Ele está... está morto?
Arthur bateu à porta.
- Entre, Wesley!
A voz do director do colégio fez-se ouvir de dentro do gabinete. Arthur, que fora convocado directamente na sala de aula, rodou a maçaneta e empurrou a pesada porta de painéis
em carvalho. A sala era grande e estava bem mobilada. Sentado à secretária, encontrava-se o senhor Chalkcraft. No outro lado, sentados em duas pequenas cadeiras, estavam Lady
Momington e Richard. Arthur não sabia que eles viriam a Eton e pensou imediatamente no pior. Fez uma vénia com a cabeça para os cumprimentar, da forma mais distante que pôde,
e depois baixou o olhar e fixou o chão.
- Venha para aqui, para perto da secretária. E ponha-se direito.
Arthur cumpriu a ordem, sentindo-se terrivelmente desconfortável,
sob os olhares da mãe e do irmão.
- Sabe porque está aqui - disse Chalkcraft.
Era impossível saber se era uma pergunta ou uma afirmação.
- Tem a ver com o Smith, senhor?
- Certamente. Que mais poderia ser? O Smith ainda está no sanatório. Três dedos partidos. O nariz partido e uma contusão na cabeça provocada por aquele murro. Não é um espectáculo
bonito de se ver.
- Não é, senhor - respondeu Arthur, sentido. - Mas eu não posso reclamar todo o crédito pelo aspecto nauseante dele.
A mãe mexeu-se na cadeira, pouco à vontade, e Richard olhou-o espantado. Só o director parecia divertido e evitava exibir um riso matreiro.
- Sim, tem razão. Mas é um assunto sério, Wesley. Não podemos ter aqui rapazes a demolirem-se uns aos outros de forma tão arrasadora. Senão, um dia destes, deixaríamos de
ter alunos. Isto é um colégio, não é um raio de um clube de boxe.
- Lamento muito, senhor.
- Espero bem que sim. Tive de pedir à sua mãe e a Sua Senhoria para virem à escola, para discutir o assunto, e agora não vale a pena protelar. Vou direito ao assunto: vai
deixar a escola no fim do próximo semestre.
Arthur encarou os três adultos.
- Estou a ser expulso? - Sentiu-se indignado. - Eu estava apenas a defender-me.
- Silêncio! - Chalkcraft ergueu a mão. - Não está a ser expulso. Não disse que lhe pedimos para ir embora. Para além de que não se trata só do incidente com o Smith. Após
analisarmos o seu progresso em Eton, ou melhor, a falta dele, a sua mãe e o seu irmão e eu concordámos que a sua continuação no colégio não faria sentido. Você não parece
pertencer a este lugar, Wesley. E isso é tudo o que interessa. Assim, o seu irmão deu conhecimento ao colégio, com um semestre de antecedência, da sua intenção de o retirar
desta escola.
Arthur olhou para Richard, tentando esconder o seu orgulho terrivelmente ferido.
- Compreendo.
Richard respondeu ao olhar acusador do irmão desafectadamente:
- Há três anos que aqui estás, Arthur. Vi a tua caderneta. Não só vais chumbar este ano, como as tuas notas são ainda mais baixas do que as da maior parte dos alunos dos anos
anteriores ao teu. Francamente, existem melhores usos a serem dados ao dinheiro que a família tem gastado nas propinas do colégio. E eu também sei que não és feliz aqui.
Era verdade, concedeu Arthur. Tudo. Mas agora que enfrentava as consequências de três anos de lassidão, sentia-se injuriado pela acusação de que não cumprira o que dele se
esperava. De repente, por paixão, já queria ficar em Eton, para não ter de aceitar que a sua retirada ofereceria ainda mais provas da sua inadequação.
- Eu quero ficar - respondeu em voz baixa.
Richard sorriu.
- Não, não queres. Sei que gostarias de pensar que queres. E se ficasses? A tua folha já está manchada no respeitante aos teus professores e
colegas. Por muito que tentes mudar, vão sempre atirar-te o passado à cara. Depois desta briga com o Smith, nem lhes podes levar a mal.
Lady Momington fungou.
- E podes ter a certeza de que aquele arrogante vicioso do Sidney Smith não vai perder tempo até contar a toda a sociedade londrina o que o Arthur fez ao seu irmão mais novo.
- Sim, mãe - interrompeu Richard. - Mas não estamos aqui para discutir a sua contenda pessoal com o Sidney Smith. Estamos a decidir o que é melhor para o Arthur, está lembrada?
- Com certeza. Claro que estou lembrada - disparou ela, e a Arthur ocorreu, nesse instante, que muitas mais discussões teriam acontecido antes deste encontro no gabinete do
director de Eton. Dissesse o que dissesse, nada mudaria. As decisões acerca do seu futuro já estavam tomadas. A mãe voltou-se para ele e sorriu.
- Arthur, meu querido, quero que venhas viver comigo. Parece que te negligenciei tempo de mais. Gostavas de viver comigo? Estou certa que sim. Em qualquer dos casos, já decidi
que é tempo de deixarmos Londres.
- Deixar Londres? - perguntou Arthur, com imagens de um regresso a Dangan a apoderarem-se da sua mente. - Disso gostava!
- Eu sabia - sorriu Lady Momington. - Fico muito contente. Estamos entendidos. Logo que terminares aqui, em Eton, fazemos as malas e partimos. Vou arranjar uma bela casa para
nós, enquanto tu terminas o teu último semestre lectivo.
- Procurar casa? - Arthur estava confuso. - Que casa?
- Ora, uma bela casa alugada - prosseguiu a mãe. - Em Bruxelas.
- Bruxelas?
- Sim. Uma linda cidade. Foi o que me disseram. - Anne esticou o braço e agarrou-lhe na mão. - Arthur, meu querido, vamos passar lá uma temporada óptima, não vamos?
Arthur olhou para a mãe e depois para a mão enluvada dela, que apertava os dedos encolhidos da sua mão, e lutou contra a frustração e a raiva que o devoravam por dentro.
- Sim, mãe, como queira...
Capítulo 30
- Ah! Vejo que tem um músico na família.
Monsieur Goubert sorriu, ao ver a caixa do violino no meio da bagagem a ser descarregada da carruagem. Havia várias malas, uma colecção de caixas de chapéu, um baú de toilette,
umas quantas caixas de livros e de parti-
turas, tudo empilhado em frente da porta da casa do advogado. Era uma residência imponente, a pouca distância do centro de Bruxelas. Desde há vários anos, Monsieur Louis Goubert
alugava partes de casa a estrangeiros atraídos pelo preço razoável das rendas e pelos confortos de Bruxelas. A maior parte dos seus inquilinos eram aristocratas desfalcados,
à procura de um lugar mais barato para viver, onde pudessem manter as aparências de pertencerem às melhores famílias da Europa. Como resultado, Bruxelas tinha-se tornado num
lugar muito mais interessante nos últimos anos, e Monsieur Goubert via com bons olhos a chegada de gente da sociedade à cidade, desejando que a proximidade de tal brilho aristocrático
pudesse iluminá-lo também a ele e à mulher. Gente como esta senhora inglesa e o seu jovem filho.
- Sim, de facto. - Lady Momington contemplou a caixa do violino.
- O meu filho Arthur gosta de dar uns toques no instrumento, ocasionalmente.
Arthur contraiu-se com o sarcasmo, mas manteve a boca fechada e forçou um sorriso. Não valia a pena morder o isco. Desde que deixara Eton e fora viver com ela, depressa aprendera
as regras do jogo. Se tinha um ataque de caprichos, a mãe poderia tornar-se sarcástica e cortante em extremo, tanto para inimigos, quanto para amigos e familiares. Se alguém
se ofendesse, ela acusaria a sua vítima de ser demasiado sensível e de não ter sentido de humor. Se o objecto do seu desdém optasse por responder na mesma moeda, ela ficaria
ferida e desataria a chorar, ao que se seguiria uma longa tirada acerca da ingratidão filial e do sofrimento de uma viúva, deixada em apertos financeiros por um marido esbanjador
e um filho violinista que para nada servia. Arthur apercebeu-se de tudo isto com grande rapidez e achava tais acusações particularmente dolorosas; por isso, dava o seu melhor
para não provocar a mãe.
Monsieur Goubert voltou-se para o rapaz.
- Tenho de dizer que seria um prazer ouvi-lo tocar, senhor. Acontece que tenho em minha casa um outro rapaz da sua idade que afirma gostar de música: o distinto senhor John
Armitage. Vou apresentá-lo, logo que estejam instalados.
- Sim, por favor - disse Lady Mornington. - Seria bom para Arthur fazer amigos. Só Deus sabe que poucos tem.
- Ah! Ah! - Monsieur Goubert deu uma gargalhada e bateu no peito. - O pujante humor inglês!
Anne franziu a testa.
- Humor? Que quer dizer com isso?
- Eu... pensava que... Vossa Senhoria... - O advogado vacilou sob o olhar dela e virou-se para Arthur. - Até mais tarde, então, se assim o desejar.
- Obrigado, senhor. - Arthur fez uma vénia com a cabeça. - Ficarei muito grato pela apresentação.
- Óptimo. - Monsieur Goubert sorriu. - Agora tenho de ir trabalhar. Espero que fiquem bem instalados.
- Faremos o melhor que pudermos - respondeu Anne. - A casa parece estar em boas condições de manutenção, e conto que o alojamento corresponda ao que me foi descrito.
- Estou certo de que ficará confortavelmente instalada, minha senhora. - Monsieur Goubert ergueu o chapéu. - Até mais tarde.
Ele cambaleou um pouco pelos degraus da entrada abaixo e depois subiu a rua com um passo rápido bastante enrolado.
- Parece um homem simpático - disse Arthur, olhando de soslaio para a mãe - para senhorio.
- Pois sim. - Anne virou-se e contemplou a fachada da casa do advogado. - Só de pensar que tivemos uma casa maior do que esta em Dublin e uma outra melhor em Londres.
- Mãe, as coisas mudaram - disse Arthur, em voz baixa. - Não podemos manter um estilo de vida acima da nossa bolsa. A nossa sorte mudará um dia, vai ver.
- Ah! E os porcos voarão! - Ela virou-se para os homens que descarregavam a carruagem e ordenou-lhes, em francês, para levarem a bagagem para cima, imediatamente. Depois deu
o braço ao filho. - Anda, Arthur. Vamos lá dentro inspeccionar a nossa casinha de bonecas.
A parte de casa alugada por ela ficava no segundo andar e era composta por um hall de entrada, dois quartos, um estúdio e uma sala de visitas. Havia uma casa de banho no fundo
do patamar, que era partilhada com os inquilinos da outra parte de casa no mesmo andar, um comerciante norueguês e a sua mulher. Os quartos eram bastante espaçosos e confortáveis,
mas as mobílias não eram muito sofisticadas. Mesmo assim, Arthur viu a mãe a inspeccionar tudo, a passar as mãos enluvadas por cima dos móveis e, por vezes, nos acabamentos,
até que, por fim, encolheu os ombros e se voltou para ele:
- Vai ter de servir, por agora.
Lady Mornington deu tudo por tudo para se integrar na sociedade de Bruxelas o mais depressa possível. Dias após a chegada, ela e Arthur foram convidados para um baile na Chambre
de Palais, uma ocasião formal, a requerer vestidos de seda, jóias brilhantes e condecorações militares. Enquanto a mãe se misturava no canto da sala ocupado pelo contingente
inglês em Bruxelas, Arthur subiu à galeria, que corria toda à volta do salão de baile, e, encostando-se a um pilar, olhou para baixo, para as centenas de
convidados que rodopiavam, de um lado para o outro. Os altos e baixos das conversas eram atravessados, aqui e ali, pelo riso agudo das mulheres, mas ele não conseguia distinguir
uma única palavra do que estava a ser dito. Pôs-se a pensar se estaria alguma coisa a ser dita, de facto, alguma coisa que, no mínimo, merecesse ser ouvida. Identificou a
mãe, numa discussão animada com um oficial do exército. Este era alto e reservado, com botas pretas brilhantes até ao joelho, onde terminavam num adorno com borla e pendão
dourados. Era um homem alto e magro, com o cabelo castanho-escuro encaracolado curto a emoldurar um rosto dominado por um longo nariz proeminente.
Com um choque, Arthur apercebeu-se que era assim que ele poderia ficar nos anos vindouros. Fitou o homem com uma crescente sensação de fascínio e viu como ele conversava com
outro homem, de maneira recatada e digna, que não deixava transparecer nenhum dos seus pensamentos, emoções ou raciocínios interiores. Embora o seu uniforme escarlate com
as bandas brancas e cordões dourados o fizesse sobressair na multidão, o facto de não usar peruca empoeirada, ao inverso da maior parte dos homens presentes, fazia-o parecer
natural e, de algum modo, mais impressionante. Uma figura deveras notável. O oficial parecia estar a escutar a mãe de Arthur com muita atenção, e foi com uma ponta de embaraço
que ele reparou que ela tinha começado a seduzir o homem. Mesmo ali, à frente de toda a gente.
A atenção de Arthur foi atraída por uma agitação na outra ponta do salão de baile. Os músicos começavam a tomar os seus lugares na galeria. Retiraram os instrumentos para
fora dos estojos, começaram a afinar as cordas e a limpar os arcos, e o chefe da orquestra começou a distribuir as pautas de música. Era uma orquestra diminuta para um evento
daquelas proporções, o que revelava o nível pouco abastado dos círculos sociais de Bruxelas.
Por fim, a orquestra parecia estar pronta, e o maestro subiu os degraus, com a batuta a bater impaciente na coxa, e dirigiu-se aos músicos. Arthur notou que um dos dois lugares
na secção de violinos estava vazio. O maestro percorreu o salão com um olhar furioso, que parou na discreta porta de serviço, num dos cantos. Seguindo a direcção do olhar
do maestro, Arthur viu um homem agarrado a um estojo de violino a passar pela porta, caminhando aos tropeções ao longo da parede e depois pela escada acima. Era visível que
estava muito doente ou muito bêbedo. Quase caía de costas ao subir as escadas, não fosse alguém ter esticado um braço em arco para o segurar, conseguindo que ele mantivesse
um parco equilíbrio e continuasse a subir aos tropeções os restantes degraus até à galeria. A sua actuação tinha chamado a atenção de alguns convidados, que se riam às gargalhadas,
à medida que o homem foi indo aos solavancos pela galeria fora, pediu desculpa
ao maestro, meteu a caixa do violino entre as pernas e caiu para a frente, batendo com a cabeça contra uma coluna e desmaiando. Arthur juntou-se à risada geral, ao ver o maestro
a pôr as mãos nas ancas com náusea, enquanto verificava com o sapato se o homem estava mesmo inconsciente. A seguir virou-se para a orquestra e exigiu silêncio. O outro violinista
abanava a cabeça, protestando e apontando para o colega desmaiado.
À medida que a discussão aumentava e se transformava numa zanga, Arthur sentiu-se muito bem-disposto com um pensamento que lhe veio à cabeça. Era apenas um capricho, disse
brincando para os seus botões. Depois, olhou para o salão de baile, em baixo, e sentiu a impaciência a crescer entre aqueles que estavam na zona de dança.
Arthur encheu o peito de ar, afastou-se da coluna onde tinha estado encostado e começou a percorrer a galeria na direcção da orquestra. Sabia que estava a ser tonto, que havia
todas as hipóteses de vir a ser recusado ou de, se o deixassem substituir o violinista inconsciente, ele acabasse por se revelar apenas um amador aprendiz. Mas a favor de
si estava o pensamento de que talvez conseguisse o seu intento. Poderia fazer uma coisa de que se orgulhasse, por fim, e, mais importante ainda, de que a sua mãe se orgulhasse.
Portanto, obrigou-se a prosseguir em direcção à orquestra, agrupada à roda do imóvel violinista.
Logo que o maestro sentiu que alguém se aproximava, virou-se para o rapaz, com uma sobrancelha erguida.
- Lamento, senhor, mas estamos um pouco apreensivos neste momento.
- Talvez eu possa ajudar - respondeu Arthur em francês. Apontou para o homem no chão e sentiu o cheiro do brandy a chegar-lhe ao nariz.
- Posso substituí-lo.
- O senhor? - O maestro sorriu. - Agradeço a oferta, mas problemas que cheguem já nós temos.
- Eu não toco sozinho - disse com firmeza o violinista sobrevivente.
O maestro pegou na batuta, ergueu-a no ar e apontou-a para o homem.
- Vais tocar, sim, diacho!
- Não.
- Senhores! - Arthur avançou para o meio deles, com as mãos no ar. - Senhores, por favor. Têm público à vossa espera. Um público cada vez mais impaciente...
O maestro espreitou por cima da varanda e notou as expressões ambíguas que enchiam a zona de dança, em baixo. Voltou-se para Arthur:
- Então, sabe tocar violino? E toca bem?
- O suficiente para o que precisam.
- Ah, sim? - perguntou o maestro. - Danças?
- Consigo tocá-las, senhor.
O maestro pensou na oferta, por um momento, e depois bateu na coxa, frustrado.
- Pronto, está bem! Não tenho nada a perder, excepto os honorários de hoje e, talvez, a minha reputação. - Apontou com a cabeça para o bêbedo. - Pode ficar com o instrumento
dele.
Com um sorriso rápido, Arthur inclinou-se, pegou na caixa do violino e abriu as fechaduras. Lá dentro brilhava um instrumento envernizado. Pegou nele, tirou-o para fora e,
sob o olhar atento do maestro, dedilhou cada corda para verificar a afinação; fez um pequeno ajustamento no Mi, colocou o violino entre o ombro e o maxilar, deslizou a mão
esquerda pelo braço do instrumento até ao nó, contraiu os dedos e ergueu o sobrolho.
- Estou pronto.
- Muito bem. Sente-se. Vamos começar com uma coisa lenta e simples. Tome. - Colocou uma pauta na estante de música em frente de Arthur. - Conhece esta?
Arthur leu o título: Uma Gaivota de Rameau.
- Sim, senhor. Já toquei isto. Consigo acompanhá-los.
- Espero bem que sim - murmurou o maestro. - Para o bem de
todos.
O maestro fez sinal de silêncio à orquestra, indicou o compasso e começou. Era uma música curta, que só servia para indicar que o baile estava a começar e para oferecer aos
participantes a hipótese de começarem a ensaiar alguns passos de dança. Arthur conhecia bem a peça e acompanhou os músicos. Quando chegou ao fim, o maestro assentiu e disse:
- Muito bem, senhor. Está pronto para uma coisa um pouco mais rápida?
Arthur anuiu, e o maestro passou para a peça seguinte do programa. Enquanto tocava a dança seguinte, Arthur sentiu-se mais feliz do que algum dia se sentira desde a morte
do pai. O toque familiar do instrumento e o prazer que sentia ao tocá-lo significavam que ele se estava a comportar como um membro integrante da orquestra. Quando olhou para
cima, para o maestro, e este inclinou a cabeça em sinal de que ele estava a tocar bem, Arthur sorriu e prosseguiu com uma alegria em crescendo. Dança atrás de dança, o público
ricamente vestido movia-se com graça sincronizada. As horas passaram, com um pequeno intervalo no meio do programa, altura em que Arthur se juntou aos restantes músicos e
bebeu um copo de vinho e se deleitou com os elogios que lhe faziam.
Quando acabou a peça final, o maestro voltou-se para o público, que
aplaudiu a orquestra calorosamente. Ainda se ouviam as derradeiras palmas a serem batidas, quando ele ergueu um braço, pedindo silêncio.
- Senhoras e senhores, eu e a minha orquestra queremos agradecer com humildade o vosso apreço; mas antes que esta noite termine, gostaria de chamar a atenção para um de nós,
em particular. - Virou-se e indicou a Arthur para se levantar. Este ficou demasiado embaraçado para responder, mas depois, perante novo sinal do maestro, Arthur levantou-se
da cadeira, hesitante.
- Tivemos muita sorte em ter este jovem senhor entre o público desta noite. - explicou o maestro. - Com a... repentina incapacidade de um dos nossos violinistas, este jovem
ofereceu-nos gentilmente os seus préstimos. Admito que tinha as minhas dúvidas e que estava relutante em aceitar a sua ajuda, mas depressa se tornou claro que ele é um violinista
meritório. Senhoras e senhores, por favor, acompanhem-me na expressão da nossa gratidão a... - Voltou-se apressado para Arthur e sussurrou - Valha-me Deus, que eu nem lhe
perguntei o nome...
- Arthur Wesley, senhor.
O maestro estendeu o braço para indicar o rapaz e anunciou:
- Aqui têm Arthur Wesley.
Os espectadores aplaudiram, e Arthur corou, ao agradecer o apreço de que era alvo.
Foi então que se ouviu um grito agudo de surpresa, vindo do meio da zona de dança:
- Arthur? O meu Arthur?
Olhando para baixo, Arthur viu a mãe ainda junto do mesmo oficial. Parecia furiosa, mas logo que se apercebeu de que as pessoas lhe sorriam, olhou para o filho e fez uma vénia
com a cabeça, brilhando com satisfação, como todos os pais que gozam o reflexo da glória dos sucessos públicos dos filhos. Arthur sentiu o coração a inchar de orgulho e acenou-lhe.
A seguir, pôs o violino em cima da cadeira, apertou a mão a cada um dos elementos da orquestra, e de quase todos recebeu palmadas nas costas, deixou a galeria e desceu até
à zona de dança. Passando através da multidão, foi agradecendo as felicitações e agradecimentos, aqui e ali, até chegar ao pé de Lady Mornington.
Ela sorriu para o filho, agarrou-lhe os ombros e sussurrou-lhe ao ouvido:
- Que coisa linda, Arthur! Imagino que toda a gente está a pensar que na nossa família temos de cantar para poder jantar. Nunca me senti tão envergonhada em toda a minha vida!
Afastou-se dele, com um sorriso gélido. Ele contemplou-a com surpresa e dor, numa expressão em total contraste com a dela. Antes que Arthur
pudesse responder, o oficial do exército avançou e agarrou-lhe na mão.
- Muito bem, Wesley. Foi muito corajoso. Não há muitos rapazes da sua idade com cabeça fria suficiente para se saírem bem de uma coisa destas.
- Corajoso?
- Sim. - O oficial do exército preparava-se para continuar, quando parou e fez um sorriso autodepreciativo. - Peço-lhe as mais sinceras desculpas. Não me apresentei. Queira
desculpar. - Ergueu o braço e deu um aperto de mão firme a Arthur. - Sou o coronel William Ross, adido militar da embaixada. Muito gosto em conhecê-lo.
- Igualmente, senhor. - Arthur fez uma vénia com a cabeça.
- Excelente trabalho, meu rapaz. Não admira que a sua mãe esteja tão orgulhosa de si.
- Oh, deixe-se disso! - Anne fingiu estar envergonhada. - Coronel, está a fazer-me corar.
- Lady Mornington contou-me tudo a seu respeito.
- Ah, sim?
- Sim, meu rapaz. Parece que neste momento não sabe que carreira quer seguir.
- É verdade, senhor. Estou a tentar melhorar o meu francês, enquanto estivermos em Bruxelas; mas, para além disso, só tenho a minha música.
- Tem um talento raro como violinista, Wesley. Isso é óbvio, mas eu sei que achará que não é o suficiente para alguém das suas origens. - Inclinou-se um pouco para a frente,
de modo a fixar Arthur com os seus olhos azuis penetrantes. - E também suspeito que, não obstante o prazer que claramente retira das suas habilitações musicais, desejará algo
um bocadinho mais excitante, certo?
- Sim, senhor - respondeu Arthur com delicadeza, embora não estivesse seguro de que queria fazer algo mais excitante do que dedicar-se inteiramente ao violino. Porém, ali,
em frente do coronel Ross, deixou-se influenciar pelo estilo impressionante do homem e tornou a sentir que gostaria de exsudar a mesma autoconfiança, quando tivesse a mesma
idade.
Como se lesse o pensamento de Arthur, o coronel sorriu e falou descontraidamente.
- Alguma vez pensou numa carreira no exército?
- No exército? Ainda não, até agora.
- Talvez devesse fazê-lo. Lady Mornington disse-me que é o filho mais novo. Conheço por experiência própria o fardo que é não ser herdeiro principal. Os filhos mais novos
dos aristocratas têm de escolher entre beber
até morrer, ir para padre, ou ir para a tropa, ou optarem por todas as três escolhas, se sofrerem da gula dos castigos, embora não nessa precisa ordem, claro está. - Deu uma
ligeira gargalhada, e Arthur riu-se também. Depois, o coronel Ross continuou. - Não o consigo imaginar como bêbedo, ou padre; portanto, o exército parece-me a escolha mais
segura. A sua mãe é da mesma opinião.
- Sim. Ela é muito boa a decidir pelos outros - desabafou Arthur.
Anne ignorou o tom irónico do filho.
- Vale a pena pensar no assunto, Arthur. Richard... - voltou-se para o coronel, para explicar - o meu filho mais velho, o conde de Mornington
- virou-se para Arthur, de novo -, ele deve ter alguns conhecimentos que te ajudem a obter uma vaga no exército. Vou escrever-lhe em breve, para vermos o que pode ele fazer.
- E se o conde nada puder fazer, eu terei todo o gosto em ajudar
- acrescentou o coronel, com simpatia.
- Muita bondade a sua, senhor - respondeu Arthur. A conversa estava a descontrolar-se rapidamente. Se não tentasse inverter o rumo que estava a tomar, antes de um mês passado,
a mãe tê-lo-ia metido dentro de um uniforme e enviado para alguma terra longínqua, esquecida de Deus.
- Talvez uma carreira no exército seja o melhor para mim, mas devemos sempre considerar as escolhas com cuidado.
- Deveras - concordou o coronel. - Falou como um verdadeiro soldado! Talvez a melhor solução seja passar algum tempo numa escola militar, para tomar contacto com a vida militar,
mas sem compromisso algum. Que lhe parece isso?
- Escola militar? - Anne mostrou-se preocupada. - É caro?
- Não mais do que qualquer outra escola.
- Oh, compreendo.
O coronel apercebeu-se de imediato da delicadeza da situação.
- Claro que os estudantes só frequentam estas escolas por um curto período de tempo, não além de um ano, parece-me, e as propinas variam muito. Em França, por exemplo, há
locais muito baratos. Vou falar com os meus contactos noutras embaixadas, para ver se conhecem escolas apropriadas para o seu filho.
A mãe de Arthur sorriu.
- Ficar-lhe-ei muito grata. Muito obrigada.
- E agora, minha senhora, receio ter de deixá-la.
Anne pôs uma mão na manga dele.
- Certamente que não vai terminar uma noite tão agradável a uma hora tão prematura.
- De facto, não vou, minha senhora. Tenho um compromisso com
outros oficiais no clube e lamento constatar já estar atrasado para esse encontro, devido à sua conversa tão aliciante.
Ela sorriu.
- Suponho que devem estar a sentir a falta da sua excelente companhia e que terei sido egoísta. Talvez numa outra ocasião...
Ele assentiu.
- Há um baile na embaixada da Prússia, no fim do mês. Mandarei um convite para a vossa residência. Posso perguntar onde...
- Estamos alojados na casa de Monsieur Goubert, na Rua de Poincon.
- Rua de Poincon. Muito bem, tratarei do assunto. - Fez uma vénia com a cabeça. - Muito boa noite, minha senhora. E estou certo de que o verei de novo, em breve, Arthur.
- Sim, senhor. Espero que sim.
Logo que o coronel se distanciou o suficiente para não os poder ouvir, Anne virou-se para o filho. Mantendo o rosto inexpressivo, baixou a voz e falou entre dentes, com uma
voz zangada.
- Que é que tu achavas que estavas a fazer?
- Mãe? - Arthur encolheu os ombros. - Não percebo.
- Não te armes em tolo comigo. As outras pessoas até podem pensar que és um pobre de espírito, mas eu conheço-te. Que significa aquela vergonhosa exibição na galeria lá em
cima?
- Tinham um homem a menos. Eu conseguia substituí-lo no violino; portanto, pensei que devia ajudar.
- Pensaste que devias ajudar... - repetiu a mãe, com desdém. - Compreendo. Portanto, para a próxima vez que o cavalo de alguém fique coxo, tu atrelas-te à carroça e ajudas,
não é?
- Mãe, não está a ser justa.
- Não - disparou ela -, tu é que não estás a ser justo. Trouxe-te para Bruxelas para melhorares o teu francês. Deus sabe que não aprendeste mais nada do que essa língua, durante
os últimos anos. E estava convencida de que iríamos passar mais tempo juntos. Na primeira oportunidade que tens nesta noite, lá vais tu. Abandonas a tua pobre mãe no meio
da multidão.
- A senhora não me pareceu muito abandonada.
- Não sejas insolente! - Abriu-lhe os olhos, por um momento, e depois regressou ao tom magoado. - Só gostaria de ter sabido por onde andavas. É tudo. Teres-me informado seria
demonstrares por mim a consideração devida.
No seguimento da actuação inesperada na Chambre de Palais, Arthur e a mãe foram convidados para muitos eventos sociais. Ele adaptou-se bem e
depressa à atenção que lhe era dispensada, com a língua pronta para conversas fúteis e bons modos descontraídos e encantadores. Anne ficou surpreendida ao descobrir que o
filho conseguia impressionar outras pessoas até ao ponto de ser claro que uma parte da sociedade de Bruxelas preferia a companhia dele à dela. Mesmo nessas ocasiões, consolava-se
ela, de bem-parecido ele não tinha nada.
O coronel Ross informou-se acerca das escolas militares mais estimáveis na Europa, levando em conta a relação entre qualidade e preço. No fim, recomendou a instituição de
um velho amigo da família, Marcel de Pignerolle. A Real Academia de Equitação de Angers, não obstante o nome, não era uma mera escola de equitação, mas oferecia um vasto currículo
de matemáticas, humanidades e esgrima. A clientela era suficientemente exclusiva para impressionar Lady Mornington, e as propinas razoáveis também seriam muito ao seu gosto.
Uma combinação perfeita para Arthur Wesley.
Pouco depois do Natal, Anne anunciou que tinha matriculado Arthur na Academia de Angers. Ele iniciaria o seu treino lá em Janeiro. Ela regressaria a Inglaterra. Bruxelas,
anunciou, era demasiado pequena e provinciana para reter o seu interesse, um momento mais que fosse. Para além disso, tinha saudades da família.
Arthur escutou tudo isto com a mesma sensação de vazio e tristeza que tinha sentido em Eton. Estava a ser de novo abandonado. Só que, desta vez, resolveu que não ia atormentar-se
daquela maneira mal-humorada que adoptara em Eton. Com isso ele alimentara a esperança de, ao aparentar grande sofrimento, provocar uma reacção de alguma culpa na mãe, que
a levaria a dar-lhe o afecto que merecia e desejava. Porém, agora, ele sabia, com clareza, quão limitado era o afecto que ela tinha pelo seu terceiro filho. Da parte dele,
nada lhe devia. Sentia estar à beira de uma grande mudança na vida. Conseguia senti-la. Pela primeira vez, Arthur conseguia ver o caminho à sua frente. O violino já não era
o único propósito na sua existência. Dançaria ao som de outra música: do cavo rufar dos tambores e do toque estridente das trombetas do exército.
Em Janeiro viajaria para Angers e daria início à sua vida de soldado.
Capítulo 31
Angers, 1786
A carruagem entrou pelo portão principal, e Napoleão encostou-se a um dos lados e espreitou pela janela, curioso. As ferraduras dos cavalos batiam nas pedras do pátio, um
vasto espaço aberto defronte da entrada principal da academia. Um grupo de cavaleiros recebia instrução no centro do
pátio. Napoleão observou-os com atenção. Sem dúvida que eram filhos de aristocratas prussianos, austríacos e britânicos, diletantes nas suas casacas escarlates com botões
amarelos e bandas azuis-claras. Não eram verdadeiros soldados. Não eram profissionais como ele próprio, treinados pelos melhores cérebros militares da Europa. Mesmo já tendo
recebido a comissão de serviço e completado o período probatório, ele teria ainda mais treino pela frente nos meses vindouros, antes de se poder considerar um oficial de artilharia
de pleno direito. E quando estivesse fora do serviço, teria manuais para estudar e história para ler, para além das obras de filosofia e literatura que lia por prazer. Em
comparação com essa experiência, Napoleão estava inclinado a ver esta academia da moda como nada mais do que uma escola de etiqueta, dirigida pelo culto Marcel de Pignerolle
e sua mulher.
O convite do director a Napoleão e aos quatro oficiais que partilhavam a carruagem tinha sido escrito numa bela caligrafia. No início, ele ainda esteve tentado a reconsiderar
o convite. Estava farto de ser desprezado pelos filhos dos nobres franceses por causa da sua origem corsa. Tornar-se num objecto de curiosidade para os nobres de outras nações
era ainda um fardo maior. O coronel, que sentia um orgulho especial por aquele seu jovem tenente tão brilhante, mas também tão estranho, aconselhou-o, pacientemente, a juntar-se
aos camaradas na visita a Angers, pela simples razão de que lhe seria útil conhecer homens que um dia poderia ter de combater em batalha. Descobrir que tipo de homens eram.
Discernir as fraquezas e as forças do seu carácter nacional. Era um argumento persuasivo, e, pouco a pouco, Napoleão, com algumas manifestações de relutância, deu o seu consentimento
ao convite, para grande contentamento do seu coronel, embora este se mantivesse silencioso quanto a isso.
- Agora, Buona Parte, lembre-se do que lhe digo e observe com atenção os seus anfitriões - concluiu o coronel. - Talvez aprenda alguma coisa. Ao mesmo tempo, tenha em mente
que é um cavalheiro no meio de cavalheiros. Não é traição divertir-se. Controle esse traço fogoso de orgulho corso e talvez venha a gostar da experiência. Os contactos que
um homem faz no mundo nunca são de mais.
Napoleão sorriu, ao vir-lhe à mente esta lembrança, e sentiu uma punhalada de embaraço com a imagem de jovem maldisposto que terá exibido ao seu coronel. Pois, agora ele ali
estava, e não havia como escapar à situação. Tinha de se precaver para não dizer nenhuma tolice. Não obstante as provocações que sofresse.
A carruagem parou em frente à entrada principal, e um pajem apareceu a correr com um pequeno estrado para servir de degrau; colocou-o no chão e abriu a portinhola aos jovens
oficiais de artilharia. Napoleão baixou a cabeça e foi o primeiro a emergir da carruagem, dando um pulo para o
estrado. Endireitou-se e ajeitou rapidamente o uniforme, alisando as rugas que se haviam formado no tecido durante a viagem. À sua frente erguia-se uma imponente fachada clássica.
As portas de madeira polida, que davam acesso ao hall de entrada, estavam rodeadas de uma colunata elevada que chegava aos tijolos primorosamente ordenados do telhado de mansarda.
A academia parecia mais um palácio do que uma escola militar e irradiava uma exclusividade nascida de dois séculos a treinar jovens cavalheiros nas artes básicas da guerra.
Alexandre Des Mazis puxou a cabeça para trás para apreciar os capitéis decorados das colunas que enquadravam a entrada.
- Isto é que é, não é, Napoleão?
Ouviu-se o som de botas pesadas no hall de entrada, e, em seguida, um jovem saiu do edifício e cumprimentou-os com um sorriso afável. Era alto, de rosto largo, cabelo escuro
preso atrás e olhos azuis brilhantes. Vestia um uniforme de cadete e fez uma vénia graciosa, quando chegou ao pé dos oficiais de artilharia. Ao falar, perceberam pelo sotaque
que era, sem sombra de dúvida, britânico, mas com uma qualidade tonal peculiar.
- Meus senhores, Madame de Pignerolle enviou-me para vos dar as boas-vindas e para vos conduzir à nossa sala de recepções. O meu nome é Richard Fitzroy.
O capitão Des Mazis avançou para ele, inclinou a cabeça numa vénia e estendeu-lhe a mão.
- Capitão Gabriel Des Mazis, do regimento de La Fère. Posso apresentar-lhe os tenentes Alexandre Des Mazis, François Duquesne, Philippe Foy e Napoleão Buona Parte?
- Encantado - sorriu Fitzroy, enquanto apertava a mão a cada um deles. - Se fizerem o favor de me seguir, senhores...
Virou-se e conduziu-os para dentro da academia. O chão era de mármore e, embora estivesse polido, exibia as marcas da passagem de milhares de cadetes ao longo dos séculos.
O hall de entrada era azul, ornamentado com talha dourada na arquitrave. A intervalos regulares, as paredes estavam decoradas com grandes retratos de homens distintos de uniforme
militar. Ao contemplá-los, Napoleão sentiu a picada da inveja na ambição que fervilhava no seu coração. Um dia, um retrato de Napoleão poderia adornar a parede da Real Escola
Militar de Paris, e todos os que o vissem pensariam duas vezes antes de fazerem da Córsega um bombo da festa.
Ao chegarem ao fundo do hall de entrada, o cadete conduziu-os por uma larga escadaria acima, até uma galeria. Vários quartos davam para ela, e à medida que o pequeno grupo
ia avançando, Napoleão constatou que eram quartos de gente de sociedade, cada um ricamente mobilado. Dentro de um deles, viu um cadete magro e alto, que aparentava ter a sua
idade, reclinado num sofá. O cadete, que tinha cabelo castanho pardo, lia um jornal.
Uma figura emergiu da última porta da galeria. Napoleão reparou tratar-se de uma mulher magra, de idade avançada, a sorrir-lhes, mantendo-se junto à parede e fazendo-lhes
sinal para prosseguirem.
Instantaneamente, os oficiais de artilharia pararam e fizeram vénias, como lhes tinha sido ensinado pelo professor de dança da Escola Militar. A senhora inclinou a cabeça
em reconhecimento e depois voltou-se para o cadete.
- Senhor Fitzroy, tenha a bondade de levar estes homens lá para dentro. As apresentações formais podem ser feitas quando o director regressar dos estábulos. Preparei alguma
coisa para tomarem enquanto esperam.
- Sim, Madame.
Madame de Pignerolle voltou-se para os oficiais de artilharia:
- E agora, meus senhores, lamento mas tenho de regressar ao meu guarda-roupa. O senhor Fitzroy acompanha-os.
Napoleão fez outra vénia.
- Muito bem, senhora.
Enquanto ela se distanciava pela galeria fora, Fitzroy afastou-se para o lado e deixou os convidados entrarem na sala. As botas de Napoleão pisaram devagar uma grossa carpete
azul, ornamentada com flores-de-lis brancas. Havia um bengaleiro ao lado da porta, e ele colocou o seu chapéu com plumas num dos ganchos ligeiramente gastos. A sala era grande,
de tecto alto e janelas enormes, que davam para um outro pátio. Nos cantos da sala estavam cadeiras de costas altas agrupadas e mesas redondas ornamentadas. A seguir ao bengaleiro
estava uma mesa longa, coberta com um bufete. Por detrás dela, dois criados aprumados, aguardavam, imóveis, o momento de servir os convidados.
- Senhores - disse Fitzroy, indicando com a mão o bufete -, queiram servir-se, por favor, enquanto vou chamar os outros cadetes que completam o nosso grupo. - Fez uma vénia
e saiu da sala.
Enquanto os passos do cadete se afastavam na galeria, Napoleão e os outros oficiais começaram a devorar o bufete com os olhos. A comida na Escola Militar era de longe a melhor
que o jovem corso provara até então, mas o que ele via naquela mesa reduzia-a a uma insignificância. Havia grandes travessas com carnes finas, postas de salmão geladas, tábuas
de queijos, enchidos curados cortados como folhas de papel, pequenos pães com várias formas e empadas frias com representações de sabres, mosquetes e canhões moldadas em massa.
No fundo da mesa, havia vários decantadores cheios de vinhos diversos e outras bebidas espirituosas.
- Não há sobremesa? - perguntou Napoleão secamente, piscando
o olho de soslaio a Des Mazis. Deu uns passos até ficar à frente do criado mais próximo. - Então?
- Senhor, Madame de Pignerolle preparou um jantar formal para ser servido mais tarde. - O tom da resposta foi bastante correcto, embora houvesse nela uma pitada de desdém
por um oficial que tinha sido tão indelicado a queixar-se do serviço providenciado pelo anfitrião.
- Compreendo. - Napoleão esticou a cabeça para o alto e olhou para o criado a partir da ponta do nariz. - Bem, assim sendo, teremos de esperar por uma refeição como deve ser.
Entretanto, pode servir-me uma selecção de carnes, por agora.
- Sim, senhor.
Com especial agilidade, o criado pegou numa tenaz de prata, num prato muito decorado e começou a enchê-lo com carnes variadas. Napoleão pegou depois no prato e num garfo e
caminhou devagar para as janelas do outro lado da sala. Os outros oficiais de artilharia aguardavam que os servissem. Através do vidro, Napoleão via o segundo pátio, em baixo,
onde grupos de jovens cadetes praticavam exercícios de esgrima. Vestiam túnicas brancas almofadadas e estavam armados com floretes. Dispostos em longas linhas, mantinham-se
em posição perante os instrutores e depois imitavam os movimentos destes: avançando, recuando, impelindo, recuando rápido, avançando e esticando o braço para atacar e golpear.
Napoleão observava tudo isto com irónico contentamento, enquanto se deliciava com as fatias dos magníficos enchidos. Nunca fora muito bom com a espada, uma deficiência notada
nos relatórios da Escola Militar. Ele não achava necessário aprender esgrima. Não nos tempos que corriam. Sentiu uma presença por detrás do ombro e constatou que Alexandre
tinha ido ter com ele à janela. Napoleão apontou com a cabeça para o pátio.
- Quem acharão eles que estão a enganar?
- Perdão?
- Lições de esgrima... Para que serve um florete num campo de batalha? Todo este treino caríssimo de nada lhes servirá face a um mosquete.
- Napoleão, saber lutar com uma espada não tem nada a ver com um campo de batalha. É apenas uma das exigências requeridas aos oficiais e cavalheiros - disse Alexandre enfadado.
- Já falámos nisso.
- Eu ainda acredito em que um homem treinado para a guerra seja treinado para a guerra. Este... este ballet armado não passa de pedantismo. Está fora de tempo e não serve
nenhum propósito.
- Não serve nenhum propósito? - Alexandre ergueu as sobrancelhas. - Claro que serve. É uma das artes que nos distingue da ralé.
- Nos? - Os olhos escuros de Napoleão fixaram os do amigo. - Isso inclui-me a mim?
- Com certeza. - Alexandre respondeu com rapidez, mas sem convicção. - És um oficial.
- Mas não um da nobreza. Não um filho de um conde, como tu e os outros.
Alexandre fitou-o por instantes, procurando não se irritar.
- Quando pretendes tu desistir dessa linha de pensamento, Napoleão? Não podes continuar ressentido para sempre com o mundo onde vives. Tens de mudar. Não sejas tão... sensível.
- Porque tenho de ser eu a mudar? Porque não muda o mundo e deixa os homens de talento florescerem? Independentemente das origens. Sou eu que te digo, Alexandre, a velha ordem
está a estrangular os que têm capacidades, enquanto dá todas as recompensas aos filhos sem préstimo de aristocratas consanguíneos. - Napoleão parou e forçou um sorriso. -
Desculpa, eu não queria...
- Aristocratas consanguíneos como eu? - Alexandre recuou um passo e pousou o prato numa mesinha redonda. - É isso?
- Claro que não, Alexandre - riu-se Napoleão. - Achas que eu seria amigo de um idiota?
- Não - respondeu Alexandre em voz baixa. - Isso seria rebaixares-te.
Os dois homens entreolharam-se num silêncio comprometedor, e depois os lábios de Napoleão curvaram-se num sorriso ténue.
- E agora, quem está a ser sensível?
- Senhores!
Viraram-se e viram Fitzroy a avançar silenciosamente sobre a carpete na direcção deles. Seguiam-no uma dezena de cadetes, incluindo o jovem lânguido com o jornal, que Napoleão
vira antes. Fitzroy sentiu a tensão entre os dois oficiais de artilharia e logo se mostrou apreensivo.
- Senhores, espero que esteja tudo bem. A comida...?
- A comida é excelente - respondeu Des Mazis, sorrindo.
- Estávamos a ver os vossos colegas na aula de esgrima e tivemos uma divergência de opinião, foi só isso. Bem, e agora podemos conhecer os vossos companheiros?
- Com certeza que sim.
Os oficiais de artilharia e os cadetes encontraram-se e cumprimentaram-se com vénias, ao serem apresentados uns aos outros por Fitzroy. Napoleão cerrou os lábios ao escutar
o seu nome a ser mal pronunciado. Se ia viver o resto da vida no meio de franceses, talvez fosse melhor tomar alguma providência para mudar isso; talvez alterar a ortografia
para tornar mais fácil aos outros a pronúncia. Este momento de preocupação teve como resultado não ter conseguido ouvir os nomes dos anfitriões, e
logo se amaldiçoou pela falta de atenção.
Mal as apresentações terminaram, os cadetes apressaram-se a que os dois criados lhes enchessem os pratos com o bufete escolhido. Só o cadete com o jornal na mão ficou parado
a olhar para Napoleão, com curiosidade. Prontamente lhe estendeu a mão livre.
- Tenente Buona Parte, não é?
Napoleão assentiu e apertou-lhe a mão.
- Buona Parte. - O cadete inglês repetiu o nome, pronunciando-o correctamente, e continuou: - Um nome invulgar, senhor. Não é francês?
- Corso - sorriu Napoleão. - Mas como eu nasci depois de a ilha ter sido adquirida pela França, acho que sou francês, afinal.
- Correcto. Embora me atreva a dizer que algumas pessoas de vistas estreitas se possam inclinar a usar isso como desculpa para o desprezar
- disse o cadete com convicção.
Napoleão estava admirado que o francês do cadete quase não tivesse o mais ténue traço de sotaque. Isso e o seu último comentário aguçaram-lhe a curiosidade.
- Desculpe, senhor. Parece-me que não retive o seu nome.
- É Wesley, senhor. Arthur Wesley, de Dangan Castle, em Meath.
Capítulo 32
- Meath? - Napoleão franziu o sobrolho.
- É na Irlanda, senhor.
- Ah! Agora percebo a sua sensibilidade às minhas origens. - Napoleão fez um sorriso caloroso. - Deve estar sujeito às mesmas presunções de superioridade da parte dos ingleses.
O cadete endireitou-se e inclinou a cabeça um pouco para o lado.
- Esse é o erro deles. Um dia verão.
Napoleão riu-se e, esticando o braço, deu uma palmada no ombro do outro homem.
- Um homem que pensa como eu. Ainda bem.
O cadete deu uma olhadela à mão de Napoleão, com uma ligeira expressão de rejeição à familiaridade do oficial de artilharia; logo se recompôs e anuiu.
- Obrigado, senhor.
Em pé, ao lado deles, Alexandre não podia deixar de estar intrigado com o contraste entre ambos. O seu amigo Napoleão era baixo e magro, usava o longo cabelo negro apanhado
atrás, o que expunha uma testa larga. O cadete, ao invés, era alto e alourado, com cabelo castanho-claro, olhos azuis penetrantes, nariz longo e fino e lábios inexpressivos.
A sua pele tinha
uma descoloração doentia. E, no entanto, havia um sentido de pose em ambos os homens, que indicava um orgulho avassalador.
O inglês indicou umas cadeiras dispostas de cada lado da janela mais próxima.
- Vamos?
Sentaram-se, e Wesley concentrou-se de novo nos dois oficiais de artilharia.
- Tenho curiosidade em conhecer a vossa discordância quanto às nossas aulas de esgrima.
Alexandre olhou para o amigo, tentando avisá-lo, mas Napoleão ignorou-o, pois estava totalmente concentrado no cadete sentado à sua frente. Inclinou-se um pouco para diante.
- Diga-me... para que servem as lições de esgrima? Na sua opinião.
O jovem inglês olhou para o pátio, pensativo, e apertou os lábios, antes de responder.
- Ensinam reflexos rápidos, equilíbrio e concentração. E, em casos de honra, podem salvar-nos a vida.
- Nada mais do que isso?
- Certamente mais do que isso, senhor! - Wesley respondeu, de imediato. - É uma parte essencial do treino para se ser cavalheiro e oficial.
Napoleão sorriu.
- Nessa ordem?
- Senhor?
- Disse "cavalheiro e oficial".
- Sim - admitiu Wesley. - Obviamente que queria dizer oficial e cavalheiro. Nessa ordem.
Napoleão ergueu uma mão.
- Não. Estava certo na primeira vez. É esse o problema. Os oficiais deviam passar o tempo a aprender a ciência da guerra e como aplicá-la no terreno. No campo de batalha não
há lugar para duelistas.
- Nem para cavalheiros? - perguntou Wesley.
Napoleão encolheu os ombros.
- A guerra não é um assunto de cavalheiros.
Wesley abanou a cabeça.
- Pelo contrário, senhor, a guerra é necessariamente um assunto de cavalheiros, ou, então, é uma mera barbaridade. Sem a liderança e exemplo de cavalheiros, a soldadesca é
pouco mais do que um bando armado. Como tal, ela constituiria uma ameaça à ordem civilizacional. Assim sendo, a aristocracia é a única garantia de ordem no campo de batalha
e fora dele.
- Ah, sim? Diga-me, cadete, porque pensa que possui ela tal exclusividade de talento?
- Porque os aristocratas nasceram e foram educados para liderar, senhor. É óbvio. Está no nosso sangue. Há séculos que está no nosso sangue. Pode treinar um macaco para ser
soldado, senhor, mas só um aristocrata nasce com as qualidades necessárias para comandar as massas.
Alexandre respirou nervosamente, esperando que o amigo explodisse; porém, Napoleão permaneceu silencioso, por instantes, antes de esboçar um sorriso gélido.
- Uma tese interessante, senhor. Mas penso que saberá que há uma enorme riqueza de talento e capacidade entre aqueles que vivem para além das paredes desta academia. Nenhum
dos quais possui uma gota de sangue aristocrático nas veias. Eles exigem reconhecimento. Eles exigem mudança. Sentimo-lo nas ruas de qualquer cidade. Suspeito que o dia deles
chegará, mais cedo do que se espera.
Wesley fixou o olhar nele, ao responder.
- Quando chegar, será o princípio do fim do mundo civilizado, senhor. Tais homens serão os chefes dos arruaceiros. Pouco apreço nutrem pela ordem, pouco valor dão à tradição.
Tudo o que possuem é ambição nua e crua.
- E capacidade. Não esqueçamos isso. Prefiro viver num mundo governado por homens que conquistaram a liderança por mérito, do que num outro onde a atribuição da liderança
depende da cama onde nascemos.
As suas palavras foram recebidas com um silêncio cortante. Alexandre sentiu que a confrontação poderia estragar a atmosfera do resto do dia, a não ser que agisse rapidamente.
Os outros já estavam a olhar na direcção deles. Seria intolerável que aqueles dois tolos azedassem as relações entre os oficiais de artilharia e os cadetes da academia. Teve
uma ideia.
- Acontece que vocês estão os dois a afirmar a mesma coisa.
Napoleão e Wesley olharam-no atónitos, enquanto a mente de Alexandre engendrava a toda a brida uma tese que pudesse aplacar os dois.
- Parece-me que ambos concordam com uma forma específica de liderança do povo comum. Seja ela determinada pelo nascimento e educação, ou por algum tipo de capacidade inata,
trata-se sempre de uma aristocracia. A maior parte do povo não mudará, aconteça o que acontecer, Napoleão, mesmo que os teus meritocratas substituíssem os aristocratas. Se
as massas sentirem que é chegada a sua hora, só admitirão controlo através da violência e morrerão ao serviço de ambos os lados, antes de o assunto estar sanado. Nessa altura,
tal como antes...
Napoleão franziu o sobrolho.
- E então?
- Então, o único caminho para as duas posições opostas é acomodarem-se mutuamente. Para bem do povo.
- Compreendo. Então, aqueles a quem a natureza ofereceu qualidades superiores estão destinados a alimentarem-se das migalhas que caem da mesa de outros, a quem o cego destino
colocou no poder? - Napoleão abanou a cabeça, em sinal de desprezo, ao passo que Wesley a inclinou, em sinal de concordância.
- Como queiram, senhores - continuou o inglês -, recompensem-nos, se permanecerem no lugar onde pertencem e não tentarem modificar as coisas. Meu Deus! Já imaginaram o que
seria uma nação governada por um ajuntamento de intelectuais?
O olhar de Napoleão caiu sobre Wesley.
- Sou levado a presumir que nunca foi um estudante brilhante?
Wesley corou.
- Bem, senhor... não. Mas há coisas mais importantes com que medir um homem.
- Deveras - retorquiu Napoleão. - E nada tão irrelevante como o respeitante às origens.
Wesley empertigou-se na cadeira e colocou os pés em posição para se levantar. Nesse momento, a voz de Fitzroy elevou-se da outra ponta da sala.
- Senhores! Queiram erguer-se para receber o director e a sua mulher.
Capítulo 33
Os oficiais de artilharia e os cadetes ergueram-se de imediato e puseram-se em sentido. O director da academia entrou na sala, de braço dado com a mulher. Madame de Pignerolle
envergava um vestido de seda carmesim com adornos prateados e tinha a cara maquilhada e uma peruca. À distância, Napoleão reparou que ela parecia ter metade da idade que aparentara
na ocasião em que lhes indicou a sala. O marido vestia o uniforme de gala de coronel, a última patente que tivera no exército antes de se dedicar à direcção da academia. Caminharam
até ao centro da sala, como se fossem da realeza, e depois o director estendeu a mão na direcção dos seus convidados.
- Por favor, senhores, à vontade.
Os convidados descontraíram-se, mas mantiveram o silêncio, aguardando que o director continuasse a falar. Napoleão reparou que era um homem idoso, cheio de rugas, com óculos
e peruca empoeirada. Não obstante, notava-se que sob o uniforme havia uma constituição física forte e que ele
se movia com a flexibilidade autoconfiante que advém da boa saúde, da boa forma e da boa educação. Respirou fundo e começou o discurso:
- Suponho que os nossos convidados do regimento de artilharia têm sido bem tratados?
Napoleão e os outros anuíram educadamente.
- Óptimo! É sempre um prazer para mim e para a minha mulher convidarmos profissionais para estes pequenos encontros que aqui organizamos, de tempos a tempos. Estou certo de
que, não obstante a vossa juventude e patente recente, terão alguma experiência útil para transmitir aos nossos jovens cavalheiros. Em retribuição, espero que acolham a oportunidade
de travar conhecimento com homens que brevemente regressarão aos seus países, para lá iniciarem carreiras militares. Todos partilhamos uma profissão nobre e, embora o seu
objectivo maior seja a competência no campo de batalha, hoje encontramo-nos como amigos, numa irmandade internacional de cavalheiros. Tenho esperança de que a amizade que
aqui se estabeleça possa dar um pequeno contributo para a paz entre todas as nossas nações, no futuro. E agora - sorriu o director - estou certo de que não desejam ouvir as
prédicas intermináveis de um velho no que resta do dia...
O riso eclodiu entre os cadetes, e os oficiais de artilharia, inseguros quanto ao grau de ligeireza permitido, sorriram por cortesia. Monsieur de Pignerolle prosseguiu:
- Se tiverem a gentileza de me seguir até à sala de jantar...
O director conduziu-os a um par de portas duplas num dos lados da sala. Não tinham ombreira e poderiam ser facilmente confundidas com parte da parede, não fossem um par de
puxadores discretos e os dois criados, que se tinham deslocado discretamente através da sala, que agora se encontravam em sentido, cada um em seu lado da porta. À aproximação
do director, eles abriram as portas de par em par, com grande cuidado. Para além delas, Napoleão conseguia ver outra sala, mais pequena e com o chão de tacos de madeira ornamentados.
Uma mesa enorme, posta para o banquete, estendia-se a todo o comprimento da sala, e uma dezena de criados estava alinhada numa das paredes. O director conduziu a mulher ao
lugar do topo e depois percorreu a mesa até ao outro topo. Num dos lados da sala, encontrava-se um pianoforte.
Napoleão e os outros oficiais procuraram os nomes nos lugares e colocaram-se atrás das respectivas cadeiras. O director esperou até todos estarem em posição.
- Por favor, sentem-se.
Ouviu-se uma estridente cacofonia de cadeiras a serem arrastadas no chão, e os convidados a sentaram-se. De imediato, os criados avançaram, retiraram os guardanapos da mesa
e colocaram-nos nos colos dos cavalhei-
ros. Lendo as placas dos nomes que o ladeavam, Napoleão reparou que estava sentado entre um cadete prussiano e um inglês. Mesmo à frente, tinha outro inglês. Os outros oficiais
de artilharia tinham sido distribuídos pela mesa de forma a que a conversa entre eles fosse impossível. O isolamento dos seus camaradas fê-lo sentir-se ansioso, e, logo que
a refeição começou, percebeu que tinha perdido totalmente o apetite, acabando por deixar a maior parte da comida no prato. O francês do prussiano era quase incompreensível,
e tudo o que entendeu foi que o outro era um firme defensor do sabre como arma de duelo. O resto era uma torrente ininteligível de vogais e consoantes. Os ingleses quase não
lhe prestaram atenção nenhuma e falaram um com o outro na sua língua. Assim, ele pôde observar os outros convivas sub-repticiamente e deu por si a fixar Wesley, de novo. O
inglês estava sentado à direita de Madame de Pignerolle, e era evidente que ele era um dos seus favoritos. Ela ria-se com gosto das piadas e mostrava-se atenta quando a conversa
era mais séria.
Quando a escuridão caía do lado de fora das grandes janelas, a refeição chegou ao fim. Os criados levantaram a mesa e, usando longos círios, acenderam as velas dos candelabros
pendentes por cima da mesa. Depois, colocaram decantadores com aguardente e cálices de cristal sobre a mesa e retiraram-se, outra vez, para junto da parede. Logo que os copos
de todos estavam cheios, Madame de Pignerolle levantou-se do lugar.
- Senhores, posso pedir a vossa atenção, por favor...
O som das conversas terminou imediatamente.
- Muito obrigada. Espero que me cedam a vossa atenção para darmos início ao divertimento deste serão.
Dirigiu-se ao pianoforte e sentou-se. A pauta de música já se encontrava em frente dela, e, após um minuto a colocar os pés nos pedais, ela olhou para a mesa.
- Arthur, quer acompanhar-me?
Wesley sorriu, levantou-se sem demora da cadeira e caminhou para ela. Inclinou-se por detrás do pianoforte e pegou no violino. Napoleão percebeu que tudo isto fora ensaiado
entre a anfitriã e o seu cadete favorito. O cadete colocou o violino no ombro, esticou o pescoço e ergueu o arco mesmo por cima do cavalete. Madame de Pignerolle fez sinal
com a cabeça três vezes, e começaram a tocar um minuete.
Napoleão ficou impressionado desde o primeiro minuto. Toda a hostilidade que sentira pelo inglês desapareceu num ápice. A intensidade de som que saía do violino e a pureza
das notas eram sublimes. A música sempre fora um prazer longínquo de Napoleão, que apreciava a sua ordem quase matemática, os padrões e voltas, as variações em tema e melodia.
A maior parte da música que escutara até então tinha sido tocada por gen-
te com competência musical e ocasionalmente com sentimento, mas este cadete tocava o instrumento como se tivesse nascido para isso. De facto, pela expressão extasiada no seu
rosto, parecia que a vida não oferecia maior alegria a Wesley do que tocar violino. Olhando em roda da mesa, Napoleão reparou que todos estavam embevecidos com a demonstração
de talento daquele jovem virtuoso, que viam e ouviam em absorto silêncio. E assim foi, durante mais de uma hora, cada peça de música tocada quase na perfeição. Até Napoleão
se sentiu comovido de forma rara com a peça final, tocada a solo; uma peça melancólica, que se ia esbatendo à medida que o ritmo se intensificava até uma nota final, que Wesley
conseguiu manter por uma infinidade impossível de tempo, até que diminuiu e terminou. Por um momento, a assistência permaneceu imóvel. Depois, uma cadeira moveu-se.
- Bravo! - O director batia palmas. - Bravo, Wesley!
O resto dos convidados imitaram-no, e Wesley corou de prazer e fez uma vénia de agradecimento, antes de regressar ao lugar.
Mais tarde, quando os convivas iam abandonando a reunião, Fitzroy começou a juntar os oficiais de artilharia para os conduzir aos quartos que tinham sido preparados para eles.
- Só um momento - Napoleão ergueu a mão. Dirigiu-se a Wesley e, um pouco envergonhado, sorriu-lhe. - Devo-lhe um pedido de desculpas pelo que lhe disse antes da refeição.
Não era minha intenção ofendê-lo.
- Não estou ofendido, senhor.
- Óptimo. Posso perguntar-lhe onde aprendeu a tocar violino de forma tão admirável?
- Fui ensinado pelos melhores. O meu pai Garrett Wesley, entre outros.
- E aquela peça final. Nunca a tinha ouvido antes. O que é?
- Uma composição de um amigo. Penso que se baseou no folclore, numa canção popular entre o nosso povo, em Meath. Escreveu-a pouco antes de morrer.
Napoleão reagiu mentalmente à referência a "o nosso povo".
- É bonita, muito bonita mesmo. E muito bem tocada.
- Muito obrigado, senhor. - Wesley inclinou a cabeça numa vénia.
- É a minha peça favorita.
Napoleão sorriu e estendeu-lhe a mão.
- Partimos ao raiar do Sol. Apresento-lhe as minhas despedidas
agora.
Com uma ligeiríssima hesitação, o inglês apertou-lhe a mão e retribuiu o sorriso. Napoleão voltou-se, fazendo menção de se afastar, deu um passo e, depois, parou e virou-se
para ele.
- Um pequeno conselho, se me é permitido.
- Com certeza, senhor.
- Um homem abençoado com tal talento divino para a música está a perder o seu tempo no exército.
Wesley anuiu, e eles trocaram um sorriso cortês. A seguir, Napoleão voltou-se e seguiu Fitzroy e os outros oficiais para os quartos de dormir.
Capítulo 34
Londres, Natal de 1786
- Acho que está ali o meu filho feio, o Arthur. - Lady Mornington apontou discretamente para o fundo da sala de recepção cheia de gente do Teatro de Haymarket.
- Onde? - perguntou a amiga, Sarah Ponsonby, esticando o pescoço.
- O rapaz alto, ali em cima, nas escadas. A falar muito animado com aqueles libertinos.
- Ah, já o estou a ver agora. - Sarah ficou atónita e imóvel, por um momento. - Aquele é o Arthur?
- Sim, agora já tenho a certeza.
- Aquele é o mesmo Arthur de que me tem falado? "Magro, arisco
e bastante aborrecido", é como me recordo que mo descreveu. Bem, Anne, 7 ele não é certamente como eu o imaginei.
- Não? - Anne parecia confusa. - Siga-me. Vamos lá falar com ele. Quero saber há quanto tempo regressou de França.
Atravessaram a multidão até à escadaria. As pessoas iam saindo, após assistirem a uma nova produção de Os Rivais, e vinham muito entusiasmadas com a actuação do galã protagonista.
Depois de muito empurrarem, pedindo licença e desculpas, chegaram junto do fundo da escadaria, e Anne acenou com a mão enluvada para atrair a atenção do filho.
- Arthur!
Mal ouviu o seu nome, o jovem virou o olhar na direcção dela. Após um breve pedido de licença aos amigos, desceu as escadas e pegou nas mãos da mãe. Ela ofereceu-lhe a cara
para um beijo e depois olhou-o de cima a baixo.
- Estás mudado. Estás mais alto e tens uma pose muito mais digna.
- Muito obrigado, mãe. - Ele inclinou a cabeça respeitosamente.
- Ainda bem que aprova. Parece que o seu dinheiro foi bem gasto ao enviar-me para o instituto de Monsieur de Pignerolle.
- Quando voltaste de França?
- No dia 10 de Dezembro. Vim com o Simpson, que está além.
- Apontou para um dos jovens que observavam o encontro das escadas.
- Ele convidou-me para ficar com a família dele uns dias, em Mayfair. Depois disso, era minha intenção ir ter com a senhora.
- Compreendo.
Anne nem sequer tentava disfarçar a sua mágoa, e a sua companheira resolveu intervir.
- Estou encantada em conhecê-lo, Arthur. Ouvi tantas coisas a seu respeito. Sou a Sarah Ponsonby.- Estendeu a mão, e Arthur fez uma vénia cortês, beijou-lhe a mão e logo se
endireitou com um sorriso bem-humorado.
- Tenho esperança de que nem tudo o que a minha mãe lhe disse seja negativo.
- Oh, não! - Sarah olhou para a amiga. - Nem tudo. Embora se tenha dificuldade em reconhecê-lo pelas descrições dela.
- Sem dúvida!
Compartilharam uma gargalhada espontânea, enquanto Anne corava. Ao contemplar Arthur, custava-lhe acreditar na diferença que nele vislumbrava. Tão seguro de si e com um charme
fácil, que já estava a surtir efeito em Sarah Ponsonby. Quando o riso terminou, dirigiu-se de novo ao filho:
- Então, Arthur, como correram as coisas em França?
- Muito bem, mãe. O meu francês melhorou consideravelmente, a minha equitação é de primeira classe, o meu comportamento é muito mais digno e aprendi a beber mais do que o
instrutor mais duro que lá havia.
- As tuas façanhas são impressionantes, de facto - comentou, ácida. - Eu apenas perguntei se tinhas tido uma temporada agradável em Angers.
- A melhor das temporadas, mãe.
- Ainda bem. E agora? Já pensaste que carreira queres seguir?
- O exército. Acho que vou gostar imenso da vida militar. Logo que passe o Natal, vou pedir ao Richard para ver se ele pode usar alguma influência para me descobrir uma vaga.
Acho que ele ainda está em funções no Tesouro, não está?
Anne contraiu-se interiormente à menção de emprego, mas era verdade: Richard tinha lutado por um lugar na administração pública e fora recompensado com um cargo de chefia
no departamento do Lorde Chanceler. Dizia-se que tinha um futuro político muito promissor à sua frente, e, daí, estar numa posição boa para ajudar a avançar as perspectivas
de carreira do irmão bem menos dotado.
- Sim, podes falar com ele, o mais cedo possível.
Arthur franziu o sobrolho.
- O mais cedo possível não, mãe. Neste momento estou a divertir-
-me imenso. Deixe-me ir falar com o Richard depois de ter tido mais um tempinho para gozar Londres. Haverá muito tempo para tratar da minha carreira no Ano Novo.
- Porquê esperar? O Richard vai estar connosco no dia de Natal. Podes falar com ele nessa altura.
- Dia de Natal... - considerou Arthur. - Está bem. Se isso a faz
feliz.
Virou-se para Sarah Ponsonby, com um sorriso brilhante.
- Diga-me, então, o que achou da peça?
- Oh, é uma bela peça de ficção, mas poucas semelhanças tem com a vida real.
- Acha que sim? - Arthur ergueu uma sobrancelha e virou-se para os amigos na escadaria. - Christopher! Aquele tipo, o Sheridan, tu disseste-me que ele te tinha dito que o
Capitão Absolute era baseado numa pessoa que ele conhecia?
- É verdade.
- Certamente que não. - Sarah recusava-se a acreditar numa única palavra. - Não pode ser verdade.
- Oh, é mesmo verdade. - Arthur baixou a voz e chegou-se mais perto dela. - Verdade absoluta.
Começou a rir, com aquele barulho peculiar a fazer lembrar um ladrar seco, que sempre irritara a mãe, e ela bateu-lhe gentilmente no ombro. /
- Chega, Arthur. Parece que não cresceste tanto quanto eu esperava. Portanto, acho que te vamos deixar divertir com os teus amiguinhos. Manda avisar-me, quando estiveres pronto
para regressar a casa.
- Logo que me tenha divertido o suficiente, mãe.
- No Natal, sem falta.
O dia, quando chegou, estava frio, húmido e ventoso, e Arthur ficou feliz ao fechar a porta da rua, quando entrou na pequena casa da mãe, em Chelsea, não muito longe da escola
de Brown, onde tinha passado alguns anos miseráveis, na infância. Entregou o casaco e o chapéu a um criado e seguiu os sons de conversa que atravessavam o atapetado hall de
entrada, vindos de uma porta aberta ao fundo. A sala de recepções tinha o tamanho adequado, mas parecia maior devido à pouca mobília que continha. Na lareira, um fogo luminoso
ardia numa grande grelha. Ao redor, estavam a mãe, Richard e William. Os outros filhos da Lady Mornington tinham ido passar o Natal com amigos. Ou assim o dizia ela, pensava
Arthur. Era bastante mais provável que tivessem sido enviados para fora, de modo a que ela pudesse engendrar uma pequena reunião com os membros mais velhos da família, destinada
a arranjar uma carreira para Arthur, o mais rápido possível.
Richard levantou-se da cadeira, com um sorriso, e atravessou a sala, para lhe apertar a mão.
- Bem-vindo, Arthur! É bom ver-te novamente depois de... quanto tempo foi... um ano?
- Um ano e meio, para ser preciso.
- A mãe disse-me que tiveste um tempo proveitoso em França. Isso é bom. Melhor ainda, que te decidiste por uma carreira militar.
- Sim, isso é a minha intenção, eventualmente - respondeu Arthur.
- Gostaria bastante de ser um soldado.
- Excelente! Verei o que posso fazer para levarmos esse intento para a frente. - Richard afastou-se e indicou ao irmão mais novo um lugar junto à lareira. - Ali. Podemos falar
até estar pronta a refeição.
Logo que Arthur se sentou, foi a vez de William fazer conversa de circunstância.
- Então, Arthur, que foi que te ensinaram em França?
Arthur já respondera muitas vezes a esta pergunta, desde que regressara de Angers, sobretudo a parentes e amigos da mãe, e a tentação de ser desrespeitoso era avassaladora.
- Deixa-me ver: para além de francês, equitação e esgrima, tornei-me um especialista em... bebida.
A sua tentativa de frivolidade deu de caras com um muro de silêncio. Encolheu os ombros.
- Então, como vão as coisas em Oxford? Ainda andas às aranhas com os clássicos?
- Às aranhas com os clássicos? - sorriu William. - Vejo que estás a brincar comigo.
- Estou? - Arthur parecia surpreendido. - Ora, valha-me a santa. Talvez tenhas razão.
Riu-se, e, com um pequeno atraso, os outros juntaram-se-lhe. William foi o primeiro a parar e dirigiu-se ao irmão.
- Para dizer a verdade, estou a ir muito bem. Já me disseram que devo leccionar uma disciplina numa das faculdades antes do fim do ano que vem.
- Parabéns. Tenho orgulho em ti.
William recostou-se, com uma doce satisfação no rosto, e notou a expressão zangada na cara da mãe; instantaneamente, sentou-se direito, e ela começou a falar.
- O William e o Richard estão ambos a fazer com que a família se orgulhe deles. O pequeno Gerald também. Não me admiro que ele siga o exemplo do William e se torne num erudito.
- Ela fixou os olhos em Arthur. - Faltas tu, Arthur. Não tens propósito na vida. Nunca tiveste. Tocar
violino e divertires-te com os amigos não é grande realização.
- Ah, isso é que é. Posso garantir-lhe.
- Arthur - disse Richard enfadado. - Não sejas maçador. Não finjas que não sabes do que falamos. Já é tempo de seguires a tua própria vida. A mãe e eu vamos deixar de subsidiar
os teus prazeres indolentes. Dentro de um uniforme, tens de te fazer alguém, nisso concordámos. Já tomei a liberdade de mencionar o assunto a um amigo meu, o duque de Rutland,
que é o governador da Irlanda. Ele tem alguma influência no Ministério da Guerra e está a tentar encontrar-te um posto. Temos de nos despachar, antes que ele se esqueça da
promessa.
- Não sei se estou pronto para assumir tal compromisso neste momento - disse Arthur. - Mais uns meses em Londres dar-me-ão a maturidade necessária para me tornar num soldado
decente.
- Arthur, tens quase dezoito anos. Conheço imensos jovens da tua idade que andam de uniforme militar de pleno direito, há mais de um ano. Se queres compensar o tempo perdido
e competir com eles, então, temos de te arranjar uma comissão já.
- E supondo que, como hipótese especulativa, eu não quero ir para o exército já?
- Arthur! - Lady Mornington mostrou a sua frustração. - Está calado! Vais para a tropa, quer queiras, quer não. E sabes porquê? Porque é só para isso que serves. És tão parco
em aptidão para qualquer outra coisa, que fomos forçados a fazer esta escolha por ti.
No seu interior, Arthur sentiu algo a ceder, e, por fim, uma torrente de orgulho ferido e rancor inundou-lhe as veias e encontrou voz.
- Chega! Estou farto! Toda a vida tive de vos ouvir a criticar-me. Claro que não sou tão inteligente quanto o Richard ou o William. Nunca fui tão promissor quanto o Gerald.
Nem nunca serei um músico tão completo quanto o pai. Eu sei disso tudo, mãe! E sabe que mais? Esse conhecimento é uma pedra no meu coração.
- Acalma-te Arthur. - Richard ergueu uma mão. - Isto não resolve nada. Podes dizer que é culpa nossa a percepção que criaste de ti próprio? Eu, pelo menos, acredito que tens
potencial.
- Muito obrigadinho, irmão.
- Então porque te fazes de enfatuado?
Arthur mostrou-se magoado.
- Pensei que estava a fazer de janota.
Richard sorriu.
- Seja como for, não podes manter esta representação para sempre.
- Veremos. Eu não apostaria nisso.
- Tenho a certeza que não, Arthur. Porém, a questão é saber quando
vais parar de nos punir por aquilo que vês como os teus falhanços? A comportares-te dessa forma, não mudarás nada. Faz-te parecer tolo e irresponsável. E reflecte-se negativamente
no resto da família. Como vês, ninguém ganha. Pelo contrário, todos perdemos. Sobretudo tu. Deves conseguir ver isso, não?
Arthur encolheu os ombros.
- Que devo fazer, então?
- Faz o que a mãe diz. Vai para o exército. Compromete-te com a carreira. Tenho a certeza de que te vais dar bem. E se outra oportunidade aparecer fora do exército, para a
qual eu te considere apropriado, talvez queiras, nessa ocasião, tentar um novo caminho.
- Compreendo. Atiras comigo discretamente para a tropa, para eu deixar de embaraçar a família. Se tiveres sorte, até pode haver outra guerra, ou alguma comissão num local
cheio de peste do outro lado do mundo, para onde eu seja considerado apropriado. Isso acabaria comigo de forma muito satisfatória.
- Ninguém se está a tentar ver livre de ti, Arthur. Só queremos o melhor para ti. Se houver uma guerra, sabe-se lá; até podes ser tu que a começas.
Arthur, de repente, sentiu-se cansado de tudo aquilo. Tinha tido esperanças numa qualquer reconciliação com a família, em algum tipo de aceitação de que ele poderia ser tão
bem sucedido quanto eles, num campo da sua escolha.
- Preciso de pensar nisso. Preciso de descansar, num sítio sossegado.
Mãe?
- Lá em cima - respondeu ela. - Primeira porta à esquerda. Vê se tiras os sapatos antes de te deitares. Mandar-te-ei chamar quando a refeição estiver pronta. Por favor, vê
se estás mais bem-disposto à mesa.
- Obrigado.
Arthur saiu da sala. Ao começar a subir as escadas, a conversa na sala de recepções foi retomada, em voz baixa. Esteve tentado a escutar, mas de nada valia. Ele já sabia do
que falavam. Como que a confirmar as suas suspeitas, nesse momento, a voz de William elevou-se.
- Nunca vi tão monstruosa ingratidão. Como é que aquele tipo tem a audácia de nos culpar pelas suas deficiências?
- Muito obrigado, William - atalhou Richard. - Mas precisamos de ser um pouco mais construtivos nos nossos contributos neste momento.
Arthur esboçou um sorriso cansado e prosseguiu escadas acima. O quarto que a mãe sugerira era escuro e frio, mas a cama era confortável e tinha sido feita com colchas grossas.
Tirou os sapatos e pôs os pés com as
meias calçadas por debaixo das cobertas, enroscou-se e fechou os olhos. Por instantes, pensou nos caminhos à sua frente. Era verdade que estava farto de não ter uma direcção
certa. Os divertimentos a que se dedicara em Londres eram isso apenas e nada mais. O seu coração e a sua cabeça ansiavam por algo mais substancial, e ele ainda não estava
totalmente convencido de que a vida no exército colmatasse essa necessidade.
Embora o coronel Ross fosse uma figura elegante, e uma que Arthur imitaria com satisfação, não podia deixar de suspeitar que o regime militar fosse tão subserviente à rotina
quanto os cinzentos salões de Eton, embora marginalmente bem mais perigoso.
Capítulo 35
Em 17 de Março de 1787, chegou uma mensagem à residência de Lady Mornington. Era dirigida ao distinto senhor Arthur Wesley, e embora não ostentasse indicações de onde provinha,
ela soube imediatamente o que seria e enviou-a para cima, para o quarto do filho, mal lhe foi entregue. Ao ouvir bater na porta, Arthur pôs de lado o livro que estivera a ler.
- Entre.
A porta abriu-se, e um dos dois criados que o dinheiro de Lady Mornington permitia contratar entrou no quarto. Levava uma pequena bandeja de prata, onde estava depositada
a carta. Arthur tentou não sorrir. A salva de cartas era um dos últimos luxos da mãe, a que ela aderira já no fim de uma moda que se apoderara das melhores casas da capital.
- Para o senhor. - O criado estendeu-lhe a salva, com uma ligeira vénia. - Acabou de chegar.
- Obrigado, Harrington. - Arthur pegou na carta. - Pode ir.
O criado fez nova vénia e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, lentamente. Arthur não perdeu tempo, partiu o lacre que selava a carta e abriu-a. A mensagem era lacónica
e formal, como ele esperava, e informava-o, com brevidade, de que tinha sido designado alferes no 73º Regimento Highland. Não era exactamente um clube exclusivo, meditou Arthur,
mas Richard tinha feito o seu melhor. Arthur teria preferido um posto num regimento de cavalaria com todo o estilo que lhe está associado, mas Richard fora inexorável ao afirmar
que tal comissão seria cara para além do que era razoável, tanto a obter, quanto a sustentar. A artilharia estava fora de questão, já que teria exigências injustas para o
intelecto de Arthur. Para além disso, esse ramo do exército tendia a ser tão profissional que os seus oficiais bem poderiam trabalhar numa empresa. Daí, a comissão ter de
ser num regimento de infantaria. Mas, por amor de Deus, tinha de ser num regimento escocês? Significava isso que ele teria de usar o raio daquelas ridículas saias?
Ou era permitido aos oficiais vestirem-se de forma mais civilizada? Arthur continuou a ler.
O regimento estava temporariamente ligado à guarnição do quartel de Chelsea. Ao alferes Wesley era requerido que se apresentasse no quartel para tomar posse formal da sua
comissão, no dia 24 de Março. A partir de então, seria informado dos deveres de um oficial de infantaria pelo instrutor de serviço no quartel.
Arthur dobrou a carta e bateu repetidamente com ela no peito, enquanto reflectia sobre a carreira militar que finalmente iria começar. Nos meses a seguir ao Natal, tinha-se
resignado a este caminho e, em consequência, lera acerca de assuntos militares o máximo que pudera. Não obstante o que falhara até agora na sua vida, Arthur estava determinado
a ser um bom soldado, no mínimo. Um que até a família pudesse admirar, mesmo que de forma crítica.
O uniforme e outras peças do equipamento, que havia encomendado, chegaram do alfaiate no dia anterior à sua apresentação no quartel de Chelsea. Com um sentimento de excitação,
que era visível para todos os que compartilhavam a casa com ele, Arthur vestiu o uniforme e depois posou em frente a um espelho de tamanho real, no quarto da mãe, e olhou
para o seu reflexo. Era uma figura impressionante, foi a sua avaliação. Poliu os botões brilhantes da sua casaca com a manga e saiu do quarto; desceu a estreita escada até
ao hall de entrada e depois, com passos largos propositados, dirigiu-se à porta da sala de recepções. A mãe e o irmão voltaram-se para o admirar.
- Ora aí está uma coisa digna de ser vista! - Richard sorriu trocista.
- Aí está o grande homem.
Anne estendeu as mãos para ele.
- Arthur, não imaginava que pudesses parecer tão... galante! Terás de usar essa espada para afugentar as meninas.
- Nesse caso, tem a minha palavra de que a lâmina nunca verá a luz do dia. - Arthur deu uma gargalhada. - Mas duvido que possa pagar muitos divertimentos com o ordenado de
alferes. Oito xelins por dia! É surpreendente como o exército consegue atrair novos oficiais. Não tinha ideia de que oferecermo-nos para lutar pelo nosso país seria obra de
caridade.
Richard deu-lhe um soco amigável no ombro.
- Concordo contigo. Oito xelins por dia não é uma fortuna. Portanto, tens de conseguir ser promovido rapidamente e tens de arranjar casamento com uma menina rica; ou então,
teremos de te arranjar o maior número possível de patronos poderosos. O actual duque de Rutland não estará connosco muito mais tempo. Mas há outros que me devem favores.
- Óptimo - respondeu Arthur. - Porque, na ausência de guerra, precisarei de toda a ajuda que consiga obter.
Às nove horas do dia seguinte, o alferes Arthur Wesley apresentou-se no portão do quartel, com a carta oficial de apresentação. Um cabo conduziu-o à messe dos oficiais, de
onde foi prontamente levado ao gabinete do comandante-adjunto do 73º Regimento. O capitão Braithwaite era um homem de meia-idade, com o peso equilibrado, expressão azeda e
cara manchada com derrames sanguíneos, provenientes de bebida em excesso. Quando Arthur entrou no gabinete, o capitão caminhava de um lado para o outro com grandes passadas.
Olhou para o recém-chegado, virou-se e prosseguiu na sua caminhada.
- Botas novas - explicou. - O sapateiro diz que tem uma técnica especial para aumentar o conforto, mas eu não consigo sentir coisa nenhuma. - Parou perto de Arthur e torceu
o nariz, zangado. - O homem é um mentiroso rematado!
- Sim, senhor.
- E quem raios é você?
- Alferes Arthur Wesley, a apresentar-se ao serviço, senhor - disse Arthur, entregando-lhe o documento.
- Onde está a continência, Wesley? Eu sou um oficial superior. Ande lá homem, faça-me continência.
Arthur reproduziu o esforço que tinha feito no portão do quartel, e o capitão arfou com escárnio.
- Vai ter de praticar, Wesley; antes de conhecer o coronel.
- Sim, senhor. O coronel está no comando? Pareceu-me entender que me devia apresentar a ele.
- O coronel não está aqui. Fui a uma festa com ele ontem à noite, e ele desapareceu com uma tipa qualquer. Deve estar a comê-la até cair para o lado, se é que não me engano
na pinta do homem.
-Oh...
- Portanto, vai ter de me deixar fazer a sua inscrição. Vai substituir aquele palerma do alferes Vernon. Deixou-se esborrachar por uma carroça de munições. Isso foi há três
meses. Requeremos um substituto, e pode-se ver com que rapidez as rodas dentadas da burocracia giram no exército. Até me admiro termos tido resposta positiva. Portanto, é
muito bem-vindo, senhor Wesley.
- Sim, senhor. Muito obrigado, senhor.
- E agora, se não se importa, tenho um par de botas para devolver ao meu sapateiro. O meu sargento administrativo irá encarregar-se da sua papelada. Depois, pode mostrar-lhe
o quartel e apresentar-lhe a ralé que
vai comandar. - Virou a cabeça e gritou por cima do ombro de Arthur.
- Phillips!
- Sim, senhor! - Uma voz respondeu de outra porta, e, um momento depois, um sargento alto, magro e fardado na perfeição pôs-se em sentido.
- Este é o alferes Wesley. Registe-o na força e nos livros de pagamento. Ele vai assumir o lugar do senhor Vernon na companhia do capitão Ford. Quando acabar aqui, leve o
senhor Wesley à messe e abra uma conta para ele.
- Sim, senhor.
- Bom-dia, Wesley. - Braithwaite apontou a porta com a cabeça. Arthur voltou-se e começou a caminhar para ela, quando um grito o fez parar onde estava. - Continência!
Arthur deu meia volta e colocou o braço em posição, tocando com a mão no sobrolho.
- Desculpe, senhor.
- Não peça desculpa, Wesley. Limite-se a fazer continência no futuro.
- Sim, senhor.
Arthur seguiu o sargento Phillips até à sala que este compartilhava com outros administrativos. Depois de lhe ter dado o livro de pagamentos, conduziu-o até à messe dos oficiais.
Apenas dois oficiais do batalhão estavam presentes, e um deles estava a dormir numa cadeira num canto da sala, com um jornal de Londres aberto, a tapar-lhe a cara. O outro
oficial estava a comer um pequeno-almoço de rins picantes e inclinou a cabeça, em sinal de cumprimento a Arthur, quando ele atravessou a messe para ir ao gabinete do sargento,
localizado numa pequena sala nas traseiras. Phillips escreveu o nome de Arthur no livro de registos e, acto contínuo, anotou dois xelins na coluna do crédito.
- Quota de membro - explicou o sargento. - Pagável todos os meses, a partir de agora, senhor.
- Compreendo. Há mais algumas cobranças de que eu precise de ter conhecimento?
O sargento Phillips começou a contá-las pelos dedos.
- Clube funerário. Clube matrimonial. O senhor caça?
- Deixe-me adivinhar. Subscrição de equipamento?
- Sim, senhor. Temos uma percentagem na caça feita pela Guarda. Ajuda a manter os preços baixos.
- É obrigatória a inscrição?
- Só se quiser ter amigos e vida social mínima, senhor.
Arthur franziu a testa.
- Mais alguma coisa?
- Só a comida, alojamento e equipamento. Todo o resto do salário fica para si.
- Isso é muito reconfortante... E é agora que vou conhecer os meus homens?
- Sim, senhor. Por aqui.
Arthur foi conduzido às casernas, e enquanto esperava do lado de fora, o sargento Phillips entrou e gritou ordens para os homens se reunirem lá fora, de uniforme completo.
Ouviu-se uma confusão de gritos e de baús de roupa a serem remexidos, e, depois, o primeiro homem lá emergiu da larga porta da caserna e correu para a posição na parada, onde
ficou à vontade. Arthur teve o cuidado de examinar cada homem com cuidado, notando a expressão arisca na maior parte dos rostos, dado que eles tinham sido arrancados do bafio
quente das suas camaratas e atirados para o frio de uma manhã húmida de Inverno tardio. Em seguida, Arthur apontou para um dos cabos.
- Você! Chegue aqui.
O cabo apressou-se e pôs-se em sentido, em frente de Arthur.
- Como se chama?
- Campbell, senhor.
- Muito bem, Campbell, vê aquela balança de moleiro, além?
- Sim, senhor.
- Muito bem, Campbell, isto é o que eu quero que faça.
Enquanto explicava, o sargento Phillips inclinou-se para dentro da
caserna e gritou aos poucos homens que restavam lá dentro.
- Mexam-se, belezas! Venham! Ou o último homem a sair leva para contar.
Quando o derradeiro homem assumiu a sua posição, Arthur espetou o peito para fora e percorreu com passos largos a primeira linha da companhia. Então, eram estes os homens
do 73º Regimento Highland: caras azedas, na maior parte mal barbeados e cheirando a suor, humidade e fumo próprios de uma caserna lotada. Todos pareciam ser mais velhos do
que o alferes de cara fresca, que os olhava com aquele longo nariz. Arthur gelou por instantes, ao querer, em desespero, reunir forças para se dirigir aos homens, cujo tipo
poucas vezes encontrara antes e nunca encontrara em grupo. Clareou a voz, concentrou-se e começou:
- Bom-dia para todos, senhores!
Silêncio, e cerca de setenta rostos inexpressivos. Arthur sentiu que o melhor era ir-se embora e dizer ao sargento Phillips que mandasse dispersar aqueles homens. Talvez os
pudesse enfrentar noutra ocasião. Noutro dia. NÃO! Arthur cerrou os punhos. Era agora que se tinha comprometido e
iria fazê-lo. Ou se assumia como oficial, ou deixava o exército desde já. Pigarreou de novo.
- Sou o distinto senhor Arthur Wesley, o novo alferes desta companhia. Pretendo cumprir o meu dever e aprender os requisitos do ofício... da nossa profissão, logo que me seja
humanamente possível. Em consequência, peço a vossa tolerância nas semanas vindouras, enquanto me torno apto o suficiente para servir ao lado de homens tão capazes como vós.
É minha intenção saber com exactidão o que posso exigir dos homens que comando. Quanto podem marchar, com que precisão conseguem disparar e com que dedicação poderei contar,
quando tiverem de lutar.
Fez uma pausa para ver se as suas palavras tinham tido algum tipo de impacto, mas os homens continuavam a olhar em frente, como antes, sem qualquer sinal de reacção. Arthur
sorriu para os seus botões. Sem dúvida que alguns deles já tinham ouvido imensos discursos de jovens oficiais durante as suas carreiras e que viam nele apenas a derradeira
cara daquela cadeia de cavalheiros, cujos lábios vomitavam frivolidades desde o primeiro discurso. Bem, hoje as coisas iriam ser um pouco diferentes. Iriam ficar a lembrar-se
do alferes Wesley.
- É minha intenção iniciar a minha aprendizagem aqui e agora. - Arthur olhou para o cabo, que atava um enorme barril a um dos braços da balança. Depois, passou os olhos pela
primeira fila e deteve-se num homem mais ou menos a meio dela, um indivíduo bem proporcionado, na casa dos trinta anos, com um tufo de cabelo escuro. Apontou para ele. - Como
se chama?
- Stern, senhor.
- Stern, pegue em todo o seu equipamento de marcha e no mosquete. - O soldado olhou para o sargento, como que a pedir confirmação. Arthur disparou, sem demoras. - Faça o que
lhe disse! Agora!
- Sim, senhor.
O homem saiu da forma e correu para a caserna. Arthur voltou-se para o sargento.
- Quero que lhe dê as munições-padrão para um soldado em campanha.
- Sim, senhor.
O sargento virou-se e correu em direcção ao arsenal. Quando o soldado Stern e o sargento Phillips regressaram, e o soldado tinha as munições colocadas no cinto, Arthur examinou-o,
para verificar se todo o equipamento-padrão estava lá.
- Onde está a sua clava?
- Não consegui encontrá-la, senhor.
- Então, usaremos a de outro homem.
Arthur apontou para a caserna. O soldado lá foi a correr, com o equipamento a chocalhar enquanto corria. Voltou, um instante depois, com uma espécie de boião de couro e prendeu-o
ao cinto.
- Assim, está melhor - assentiu Arthur. - Agora meta-se no barril da água, além, naquele que o cabo amarrou ao braço da balança. Vamos lá, soldado! Mexa-se.
O soldado atravessou o pátio em passo de corrida, trepou pelo lado do barril acima e desceu lá para dentro, ficando com a cabeça, ombros e o cano do mosquete saídos para fora
da borda.
- Cabo, pode pesá-lo agora.
- Sim, senhor.
Arthur pesou o homem com o equipamento completo, depois sem a mochila, para ter o mesmo peso que teria se estivesse numa batalha, e, por fim, ordenou ao soldado para deixar
apenas as botas e o uniforme simples para uma última pesagem. Deduzindo o peso do homem só com o uniforme do peso total com o equipamento de marcha, Arthur obteve o peso do
equipamento-padrão. Voltou-se para a parada.
- Trinta e cinco quilos. É o peso que cada um de vós carrega nas costas, quando estão em campanha.
- Eh! - gritou alguém do fim da linha. - Ia malta quauguente,
puto!
Arthur sorriu e inclinou-se para o sargento.
- Conhece aquela voz?
- É o Overton, senhor. Aposto a minha vida que é o Overton.
- Overton! - gritou Arthur. - Para aqui, já!
Houve um movimento nas fileiras, ao ir rompendo por entre elas um homem alto e forte. Ao chegar perto do novo alferes, olhou em frente, por cima do ombro deste, com os lábios
cerrados. Arthur fixou-se nele e semi-cerrou os olhos.
- Já que tem tão boa voz, Overton, quero que vá buscar o seu equipamento completo. Depois vai marchar à volta deste pátio, até que tenha coberto vinte quilómetros. Quando
acabar, o sargento Phillips irá chamar-me, e depois veremos quanto tempo mais aguentará. Vai ser uma experiência interessante. Espero poder avaliar com precisão que variáveis
de peso e distância podem ser aplicadas ao movimento das tropas. - Sorriu. - E agradeço-lhe pela sua prestação nesta experiência. Sargento Phillips!
- Sim, senhor.
- Disperse os homens. Excepto o Overton, aqui, claro está.
Quando a companhia regressava à caserna, Arthur olhou à volta do
pátio e fez alguns cálculos rápidos.
- Cento e sete vezes à roda da parada. Fica por cento e dez. Tome atenção para ele não sair do perímetro. Oh, e tire o outro do barril.
Nos meses seguintes, o novo alferes tornou-se na fonte de considerável interesse, tanto para os praças, quanto para os oficiais, porque não desperdiçava oportunidade nenhuma
de aprender mais acerca dos homens, do equipamento e da organização do exército britânico. Era esta última que mais surpreendia Arthur. Em vez de ter autonomia para gerir
os seus assuntos, o exército estava totalmente amarrado numa teia de hierarquias oficiais. O Tesouro era responsável pela Intendência, que abastecia o 73º de comida e meios
de transporte; os serviços médicos do exército eram supervisionados pelo gabinete do cirurgião-chefe; as tropas eram pagas através do gabinete do tesoureiro; os abastecimentos
do campo eram organizados pelo gabinete do despenseiro e o gabinete de ordenança era responsável pela manutenção dos quartéis. Se o regimento saísse em campanha, os administrativos
do gabinete do contramestre juntar-se-iam aos anteriores na elaboração dos registos da força. Tudo isto prendia o regimento numa rede de burocracia que teria dado cabo dos
nervos de um adjunto mais delicado do que o capitão Braithwaite.
- Imagine o que aconteceria se algum dia entrássemos em batalha, jovem Wesley-desabafou ele um dia. - Nem nos atreveríamos a disparar uma única rajada, por medo de desencadearmos
uma avalanche de papelada. Às vezes interrogo-me se aqueles tipinhos em Whitehall não estarão secretamente a trabalhar para uma potência estrangeira, interessada em sabotar
a nossa capacidade ofensiva.
Se os homens do regimento ficaram impressionados com o novo oficial, então a família teve uma revelação com o seu comportamento. De tal forma, que Richard até providenciou
um rendimento particular para o irmão, de cento e vinte e cinco libras por ano, para subsidiar o seu parco ordenado. Ao mesmo tempo, Richard continuou a pressionar os seus
amigos políticos, para que a carreira de Arthur avançasse.
Em Novembro, chegou uma carta à messe dos oficiais e foi entregue a Arthur, quando ele estava sentado a almoçar com os outros oficiais do regimento. Mastigando um pedacinho
de pão acabado de cozer, Arthur quebrou o lacre e abriu a carta.
- Valha-me Deus - murmurou.
O capitão Braithwaite fitou-o.
- Que se passa, Wesley?
- Bem, parece que vou ser nomeado ajudante-de-campo do novo vice-rei da Irlanda, com o posto de tenente.
- Sortudo! Isso são mais dois xelins por dia. E um novo regimento.
- Braithwaite amarfanhou o guardanapo. - Que grande chatice! Isso significará que tenho de arranjar outro alferes para o 73º. Podia ter-me dito antes.
Arthur ergueu a carta.
- Senhor, é a primeira vez que ouço falar nisto. Foi arranjo do meu irmão.
- O seu irmão? Não podemos ter o raio dos parentes a fazer a carreira por nós. Ele costuma fazer isso muitas vezes?
- Nem imagina - sorriu Arthur, enfadado.
- De qualquer forma, Irlanda, não é? Vai para o Castelo de Dublin. Mas... é claro que me estava a esquecer... - Braithwaite esticou o garfo na direcção de Arthur. - Você é
da Irlanda. Um irlandês. Imagino que seja uma espécie de regresso às origens, eh?
Arthur endireitou-se.
- Senhor, nascer na Irlanda faz de mim irlandês tanto quanto nascer num estábulo faz de alguém cavalo. - Sorriu. - Mas é um lar, de certa forma.
De volta à Irlanda. Já tinham passado mais de oito anos, desde que partira. A sua mente acudiram memórias em catadupa, imagens de Dangan, do doutor Buckleby, do pai, no grande
salão, a jogar ao jogo do volante, com tão pouco jeito... Há já tanto tempo, parecia-lhe. Quando regressasse à ilha, seria uma pessoa muito diferente do rapaz que, com tamanha
relutância, a tinha abandonado, há muitos anos atrás.
Capítulo 36
França, 1786
Os testes de canhões no arsenal de Nantes revelaram-se um divertimento interessante para Napoleão. Quase todos os países da Europa estavam equipados com canhões de calibre
mais pesado. Um dos generais do Ministério da Guerra decidiu que o exército francês precisava de investigar a possibilidade de reequipamento da artilharia, para ficar a par
dos padrões internacionais mais elevados. Claro que tal empreendimento era dispendioso, e tinha sido pedido a um certo número de fundições para apresentar canhões para testes.
Durante mais de duas semanas, Napoleão e mais de cem outros oficiais de várias patentes, de todo o exército, observaram as armas a serem submetidas aos testes necessários.
As armas apresentadas funcionaram bastante bem, em particular uma, destinada a ser puxada por uma parelha de cavalos, para rápida movimentação no campo de batalha. Napoleão
ficou de imediato intrigado
pelas possibilidades de tal arma. Embora os oficiais de artilharia tivessem ficado impressionados com as armas em oferta, a cavalaria e a infantaria não ficaram. Qualquer
programa destinado a substituir as armas existentes resultaria, decerto, em fundos menores para os outros elementos do exército. Sem acordo possível, os testes foram concluídos,
e cada um regressou à sua unidade.
Napoleão depressa se acostumou ao quotidiano de Valence, a cidade da guarnição. As tarefas diárias tornaram-se menos pesadas, à medida que foi ficando mais eficiente no seu
relacionamento com os homens e com o equipamento. Quando estava fora de serviço, a falta de qualquer rendimento particular era uma fonte de constante frustração. Simplesmente
não podia dar-se ao luxo de passar todas as noites a beber com Alexandre e com os outros oficiais. Isto tornou-se num contencioso constante entre eles, em especial após a
promoção de um dos oficiais para outro batalhão. O homem em questão não tinha qualquer talento militar que se visse, mas tinha feito o suficiente, devido à sua ascendência
sem paralelo: foi recompensado com a promoção a tenente-coronel, numa idade indecentemente jovem.
- É assim que as coisas são. - Alexandre encolheu os ombros. Estavam sentados na messe dos oficiais no comando do regimento. - Não vale a pena zangarmo-nos ou azedarmo-nos
por isso.
- E porque não? - Napoleão retorquiu, com veemência. - É absurdo e é errado.
- Errado?
- Sim. - Napoleão, sentado numa cadeira, inclinou-se para a frente.
- E isto nada tem a ver com inveja, antes que atires com isso para a discussão. Tem a ver com justiça, pura e simples, e, mais ainda, tem a ver com o que é bom para o exército.
- Deveras? O senhor tenente Buona Parte não se importaria de explicar por que motivo será o seu juízo superior aos juízos de todos os generais e ministros de Sua Majestade?
Alguns dos oficiais na messe já estavam a olhar para eles, e Napoleão teve vontade de terminar com a discussão nesse instante. Mas um diabinho interior impelia-o a prosseguir:
- Ouve o que te digo, Alexandre. Isto não pode continuar. E não é apenas o exército. Um dia, os aristocratas terão de renunciar a todas as suas vantagens e dar a outros franceses
a oportunidade de mostrarem o que valem.
- E se não o fizerem?
- Então, o poder terá de lhes ser retirado.
- A sério? - Alexandre riu-se. - Por quem? Por camponeses? Por
donos de fábricas? Ou tudo acabará afinal dependente de um certo corso, com um particular zelo por reformas, imagino?
Napoleão evitou responder à provocação e regressou ao ponto original da sua argumentação.
- Tudo o que afirmo é que a situação actual é intolerável. Nem pode, nem vai continuar. Tens as mesmas hipóteses de ler as notícias de Paris que eu tenho. O povo está farto.
Tudo o que temos de decidir é de que lado vamos ficar.
- Lado? - Alexandre riu-se de novo. - Falas de uma maneira que até parece que isto vai dar numa guerra.
- E pode.
- E nesse caso, de que lado estarás, Napoleão?
Era uma boa pergunta, e agora que tinha sido formulada, Napoleão não estava seguro da resposta. Era verdade que as suas simpatias estavam com as pessoas que queriam modernizar
a França. Por causa delas, talvez, o sonho de uma Córsega independente, um dia, pudesse tornar-se realidade. Por outro lado, tinha jurado lealdade ao rei de França e antevia
que qualquer mudança fundamental no modo como a França era governada poderia arrastar o país para o caos, ou, pior ainda, para a guerra civil a que Alexandre aludira.
- Então, Napoleão?
Ele mexeu-se na cadeira.
- Não sei. Teria de esperar para ver o que estaria em jogo, antes de tomar partido.
Alexandre deu uma gargalhada e, desta feita, alguns dos outros oficiais juntaram-se-lhe.
- O trinca-fortes do regimento encolheu-se! - alguém proclamou em voz alta, e as gargalhadas intensificaram-se, acompanhadas por outros que escarneciam. Napoleão corou, furioso.
Há um ano atrás teria voado para eles de punhos cerrados, mas esse comportamento não era tolerado entre adultos. Além disso, os riscos de uma confrontação desse tipo eram
muito elevados agora. Se fosse ofensivo o suficiente, era possível que um dos outros oficiais o desafiasse. Napoleão era realista e sabia que as hipóteses de vencer um duelo
à espada ou à pistola não eram muitas. Por isso, engoliu a raiva, levantou-se da cadeira e estendeu a mão a Alexandre.
- Tenho de ir. Tenho trabalho a fazer. Desejo-te uma boa noite, Alexandre.
O amigo olhou pasmado para ele, ergueu-se e apertou-lhe a mão:
- Boa-noite, Buona Parte.
Os outros oficiais ficaram em silêncio, enquanto ele atravessava a messe, em direcção à porta. Napoleão sentiu os olhares a fixarem-se nele, como
se fossem agulhas, mas resistiu à vontade de andar mais depressa. A seguir, abandonou a sala, desceu as escadas até ao hall de entrada e saiu para o ar frio da noite. Atrás
dele, o som de vozes na messe, pouco a pouco, regressava ao nível anterior, enquanto ele tomava o caminho do quarto alugado na casa de Mademoiselle Bou, que herdara a propriedade
do defunto marido.
A maior parte do tempo livre de Napoleão era passada a ler. Os livros de História eram a sua paixão favorita, mas, mais recentemente, começara a ficar interessado em filosofia
e teoria política. Tinha nas suas prateleiras as obras de Rousseau, ao lado das de Tácito, Plínio e Heródoto. Havia até lugar para livros sobre História da Inglaterra, dado
que o fascinava a forma como o parlamento tinha conseguido garantir a ascendência sobre o trono. Se isso se fizera numa nação intelectualmente atrasada como Inglaterra, porque
não em França? Quando não estava a ler, escrevia ensaios sobre tácticas de artilharia, respostas a Platão e, mal descobriu uma cópia da História da Córsega de Boswell, começou
a planear escrever a sua própria história da ilha.
Escrevia depressa, na sua caligrafia de aranhiço, pela noite dentro, à luz de uma única vela, que era tudo o que podia comprar. Ocasionalmente, era perturbado pelos gritos
roucos dos bêbedos no Café Corde, na porta ao lado, e sentia espasmos de raiva e de desespero de cada vez que reconhecia as vozes dos outros jovens oficiais do regimento.
Capítulo 37
Os meses passavam com uma lentidão que Napoleão achava insuportável. Prosseguia com as suas tarefas monótonas, com uma sensação de crescente frustração, até à manhã em que
foi acordado por murros na porta do quarto. Sentou-se na cama, pestanejando, tentando afastar o sono e clarificar a mente. Pela janela viu que ainda estava escuro lá fora.
- Que diabo se passa?
- Tenente Buona Parte? - perguntou uma voz do outro lado da
porta.
- Entre!
A porta abriu-se, e surgiu um dos artilheiros da sua companhia. O homem fez uma vénia respeitosa.
- Que queres? - bocejou Napoleão.
- Mensagem urgente, senhor.
- O que é?
- O coronel quer todos os oficiais do nosso batalhão no comando, o mais depressa possível.
Napoleão pôs os pés no chão e pegou nas roupas.
- Diz-lhe que vou a caminho.
Na rua, as silhuetas escuras dos homens de uniforme moviam-se apressadas na fosca luz antes da alvorada, na direcção do comando do regimento. Napoleão questionava-se se aquilo
seria algum exercício elaborado para ver em quanto tempo o regimento poderia estar pronto a marchar. Ao chegar ao quartel, entrou rapidamente pelos portões e viu que, alumiados
pelas dezenas de tochas colocadas nos suportes nas paredes, os homens do seu batalhão já estavam a reunir o equipamento de marcha e a formar-se nas respectivas companhias
na parada. Brilhavam luzes nas janelas do edifício de comando, e ele apressou o passo ao aproximar-se dos degraus da entrada. Dentro da messe, os outros oficiais estavam em
pé ou sentados, espalhados pela sala. Detectando Alexandre encostado à parede, Napoleão atravessou o ajuntamento para chegar a ele.
- Que está a acontecer?
Alexandre encolheu os ombros.
- Não faço ideia. Só recebi a convocatória para vir ao comando.
- Onde está o coronel?
- Não o vi. Só espero que isto seja um exercício. Há uma certa cama para onde quero voltar, antes que alguém se enfie no meu lugar.
Uma agitação do outro lado da sala chamou-lhes a atenção. Era o sargento-mor que entrara na sala e berrava agora.
- Oficial superior presente!
O arrastar e mover de cadeiras parou de imediato, quando o coronel entrou pela porta e caminhou bruscamente para o fundo da sala, onde se virou para os seus oficiais. Clareou
a voz e começou a dar instruções minuciosas.
- O batalhão vai partir imediatamente. Há tumultos graves em Lyons, que irromperam há três dias. Parece que começaram no bairro dos trabalhadores da fábrica de seda, por causa
de uma disputa de salários. Queimaram a fábrica e depois assaltaram uma adega. Antes que as autoridades locais pudessem controlar a situação, os distúrbios tinham-se espalhado
pela cidade toda. Parece haver um núcleo duro de radicais que assume comandar a multidão. Ocuparam a Câmara Municipal e começaram a emitir proclamações a pedir um levantamento
geral dos pobres nos campos dos arredores. Por isso, o presidente da Câmara chamou o exército. O 34º Regimento de Infantaria de St. Étienne já vai a caminho. Nós vamos juntar-nos
a ele como apoio. Não precisaremos de canhões. A visão dos nossos uniformes e uns tantos mosquetes devem chegar para fazer estes desordeiros caírem em si. Há perguntas?
Napoleão olhou para os outros oficiais, antes de erguer a mão.
- Sim, tenente?
- Senhor, se aquela gente não cair em si e se formos atacados, qual é o uso de força permitido? Quais são as regras, se tivermos de combater?
O coronel anuiu.
- Boa pergunta. Se se encontrarem numa situação que ponha em perigo as vossas tropas, têm permissão de usar a baioneta. Se isso falhar, podem disparar fogo real. Obviamente
que terão de ser os oficiais os juizes do nível apropriado de resposta. Podem dar uns socos numas cabeças, se vos atirarem insultos, mas se atirarem qualquer outra coisa,
a resposta apropriada aplica-se. - Desviou o olhar de Napoleão e dirigiu-o para o conjunto dos seus oficiais. - Senhores, parece existir uma maré de dissidência a subir por
toda a França. As classes servis foram dominadas durante muitos séculos. Não podemos consentir que a situação de Lyons abra um precedente. Quando a ordem for restaurada, quero
que as pessoas por todo o país tenham a noção da rapidez e da eficiência com que lidamos com situações destas. Faço-me entender?
O batalhão partiu de Valence, raiava a aurora. O capitão Des Mazis veio do comando para se despedir do irmão e para que Napoleão lhe prometesse que olharia por ele. A seguir,
a coluna saiu do quartel em silêncio, visto que o coronel não queria atrair curiosos. Se transpirasse para as ruas de Valence o propósito da sua missão, era possível que houvesse
radicais suficientes na cidade para seguirem o exemplo dos agitadores de Lyons.
Levou três dias a marcha pelo vale do Ródano até Lyons. Ao aproximarem-se da linha das muralhas da cidade, os homens do regimento de La Fère detectaram finas colunas de fumo
a elevarem-se de vários locais da cidade. Foram recebidos nas portas da cidade por um capitão do 34º, que aparentava estar cansado e que ficou satisfeito por ver reforços,
ao apresentar-se ao coronel.
- Senhor, os seus homens têm de actuar imediatamente. O meu regimento está a limpar as ruas do outro lado do Saône, mas há problemas na margem de cá. Está uma multidão a pilhar
o bairro dos mercadores. O presidente da Câmara quer que tratem do assunto.
- Muito bem - concordou o coronel. - Os meus cumprimentos ao presidente da Câmara. Diga-lhe que actuaremos contra os arruaceiros imediatamente.
O capitão fez continência e afastou-se apressado, na direcção do seu regimento. O coronel chamou os oficiais para dar as ordens, enquanto o resto dos homens pousava as mochilas
e se preparava para a acção, carregando os mosquetes com todo o cuidado. Não havia tempo para um plano detalhado e o coronel simplesmente disse aos oficiais para usarem a
força contra os habitantes da cidade que se atrevessem a enfrentá-los.
De baionetas fixas, os homens do regimento de La Fère marcharam pela cidade dentro. A rua à frente deles estava quase deserta. Apenas uns poucos indivíduos se tinham atrevido
a sair de casa e a ela regressaram a correr, logo que ouviram o som dos protectores metálicos das botas a baterem contra o empedrado da rua. Napoleão reparou nas caras que
assomavam às janelas para darem uma espreitadela aos soldados, quando a coluna passava. Quando chegaram ao bairro mais rico, junto ao rio, as casas tornaram-se maiores e mais
imponentes. De mais adiante chegavam-lhes sons de muita gente a gritar de raiva. Napoleão, instintivamente, pegou no punho da espada e apercebeu-se de que a garganta tinha
ficado muito seca.
Depois, a coluna emergiu das casas para uma grande praça, com um pequeno parque no centro. As janelas de todos os edifícios que davam para a praça tinham os vidros partidos,
e a maior parte das portas tinha sido arrombada. Centenas de pessoas carregavam alegremente mobílias, faianças, panelas e montes de roupa. Aqui e além, uns tantos dos mais
bravos, ou dos mais tontos, proprietários, que lutavam para recuperar os seus bens, eram agredidos e espezinhados pelos arruaceiros. O corpo de um homem gordo ricamente trajado
estava enforcado num ramo de uma árvore no centro do parque. Quando a turba se apercebeu da chegada dos soldados, fugiu para o outro lado da praça. O coronel dispôs os homens
em linha face à multidão e colocou-se atrás deles, no centro da companhia. Um silêncio tenso encheu o ar, até que o coronel retirou a espada da bainha e a apontou para a multidão.
- Avançar!
À medida que a linha avançava, quebrou-se o feitiço, e um coro de gritos de fúria elevou-se da densa massa de gente da cidade. Napoleão, marchando atrás da sua companhia,
cerrou os dentes e desembainhou a espada. Os soldados avançavam por cima dos despojos deixados pelos assaltantes. No meio das roupas estragadas e das mobílias partidas, jazia
uma mão-cheia de cadáveres e muitos feridos, mas Napoleão não podia parar para os ajudar. Um homem sentado num baú partido levantou a cabeça quando os soldados o rodearam.
Tinha a cara cheia de nódoas negras e arranhões na zona onde um dos desordeiros o tinha atacado. Olhou para Napoleão, como se não o visse, apenas por um instante, até que
a linha de soldados o ultrapassou.
Algo deu um estampido perto de si, e Napoleão viu um pedaço de pedra a fazer ricochete no empedrado da rua e a acertar-lhe na bota. Mais projécteis surgiram, à medida que
os soldados ficavam ao alcance da horda enfurecida. Pedras de calçada, garrafas e pedaços de madeira voavam pelo ar. Um pequeno frasco estilhaçou-se na cara de um soldado
próximo de Napoleão, que, com um grito de dor, parou, pôs o mosquete no chão e deitou a outra mão ao rosto, enquanto o sangue caía de um corte fundo na sua testa. Quando os soldados cercaram a multidão, os gritos tornaram-se num furor terrível, e mais projécteis
encontraram os alvos, deitando ao chão mais uns tantos soldados e deixando pequenas aberturas na linha, que eram rapidamente preenchidas por homens das linhas seguintes.
- Alto! - berrou o coronel. - Alto!
A linha parou, executando a ordem sem demoras. A turba exultou e continuou a bombardear os soldados.
- Avançar mosquetes!
As pontas das baionetas avançaram para a multidão e os arruaceiros aperceberam-se, de repente, do perigo que corriam. Os mais próximos dos soldados afastaram-se, recuando
para dentro da massa de gente.
- Preparar fogo!
Os soldados levantaram os mosquetes e fizeram pontaria às caras das pessoas à sua frente. Houve um instante de silêncio mortífero, interrompido pelo grito aterrorizado de
uma mulher, algures à frente de Napoleão.
- Fogo!
A rajada explodiu dos canos das armas numa densa nuvem de fumo e múltiplas faíscas. Napoleão contraiu-se com o barulho de centenas de mosquetes a serem disparados, que tinia
nos seus ouvidos e ecoava nos prédios à roda da praça. O coronel não esperou para ver os efeitos da rajada, mas deu logo ordem para carregar. Os homens baixaram as armas e
precipitaram-se a correr através da nuvem de fumo. Os tiros tinham sido disparados à queima-roupa contra uma densa massa de seres humanos, e quase nenhum tinha falhado o alvo.
Os corpos ficaram amachucados e torcidos a toda a largura da franja da multidão: homens, mulheres e crianças. Mas não havia tempo para reflectir sobre a carnificina. Napoleão
e os seus homens passaram por cima de mortos e feridos e mergulharam na turba. Qualquer pensamento de desafio tinha desaparecido face à rajada, e as pessoas corriam para salvar
as vidas, empurrando-se e tropeçando nos corpos caídos. Os soldados usaram as baionetas sem qualquer restrição, matando numerosos desordeiros que procuravam fugir. Napoleão
caminhava devagar por cima dos corpos, de espada erguida, pronto a defender-se. Ainda não tinha conseguido absorver a primeira reacção de horror ao massacre que o rodeava
e limitava-se a olhar, enquanto os outros prosseguiam na matança.
Não durou muito. Poucos minutos passados, as pessoas tinham fugido, deixando a praça para os homens do regimento de Napoleão e para os mortos e moribundos da turba de Lyons.
Os soldados permaneciam no meio dos corpos, de olhos esbugalhados de excitação, enquanto o sangue caía das baionetas. Um sargento, imóvel, perto de Napoleão, abanou a cabeça,
como se assim a conseguisse limpar daquela névoa vermelha, e contem-
plou os membros dilacerados e as poças de sangue a seus pés.
- Meu Deus - murmurou. - Meu Deus, que fizemos nós?
A desordem acabou no momento em que a notícia do que tinha ocorrido se espalhou pelas ruas de Lyons. O presidente da Câmara impôs o recolher obrigatório nos bairros das classes
trabalhadoras, enquanto grupos de tropas percorriam casa a casa, à procura dos cabecilhas. Tinham os nomes, dado que havia sempre alguém disposto a trair os vizinhos por uma
pequena soma de dinheiro, e depressa a ordem foi restaurada na cidade.
Só quando o presidente da Câmara teve a certeza de que a lição tinha sido aprendida, permitiu que o batalhão regressasse a Valence. Os homens ficaram satisfeitos por sair
da localidade e respiraram mais à vontade logo que passaram as portas da cidade, deixando o infeliz povo de Lyons bem para trás. Napoleão apercebera-se do tom de abatimento
da sua companhia, que durou toda a marcha de volta a Valence e se manteve mesmo depois de terem regressado ao ambiente confortavelmente familiar do quartel. Com os homens
instalados, Napoleão apressou-se a regressar ao seu quarto.
Estava uma carta à sua espera, com a direcção escrita na conhecida caligrafia irregular da mãe. Segurou na carta por instantes, abriu-a de uma só vez e leu-a.
No dia seguinte, Napoleão pediu ao coronel uma licença para se ausentar. Falou-lhe na carta e explicou-lhe que, desde a morte do pai, as finanças da família tinham sofrido
imenso. A sua família precisava dele urgentemente.
- Há quanto tempo não vai a casa, tenente?
- Há mais de sete anos, senhor.
O coronel olhou para o oficial e compreendeu que ele não passaria de uma criança nessa altura. Tantos anos longe de casa. Longe da família. Não vira ainda os irmãos e irmãs
que tinham nascido desde que abandonara a Córsega. O coronel era humano o suficiente para adivinhar quais as consequências pessoais de tão longa ausência e deu a sua permissão
de imediato.
- Dou-lhe até Março do ano que vem. Fica satisfeito?
- É muito generoso, senhor. Muito obrigado.
- Veja se aproveita bem, Buona Parte. Depois daquela cena em Lyons, temo que os nossos serviços sejam requeridos muitas mais vezes no ano que vem.
- Sim, senhor.
- Quando parte?
- O mais depressa possível, senhor, se puder.
- Não vejo porque não. Um novo graduado que terminou o período probatório vai juntar-se ao batalhão amanhã. Ele pode ocupar o seu posto. Pode partir quando quiser. Pode ir
fazer as malas, desde já.
De volta ao quarto, Napoleão contemplou os magros pertences que acumulara nos anos que passara em França. Um uniforme; algumas mudas de roupa, a maior parte muito gasta; dois
pares de botas; um par de sapatos de dança em segunda mão, e a espada da graduação da Real Escola Militar de Paris. Nas prateleiras encontravam-se as únicas coisas de que
ele realmente gostava: volumes técnicos variados, livros de História, estudos científicos e tratados de filosofia; de nenhum deles se conseguiria separar. Portanto, foram
para a arca primeiro e acabaram por enchê-la até acima, e os outros bens tiveram de ser enfiados numa pequena mala de viagem.
Havia várias barcaças a prepararem-se para descer o Ródano até Marselha, e ele comprou passagem na primeira a sair. Quando a tripulação afastava o barco do cais e o dirigia
para a corrente do rio, Napoleão trepou para o telhado da cabina e sentou-se. Olhou para Valence, que se afastava, e sentiu um vazio enorme dentro dele. Regressaria ao regimento
daí a uns meses. Mas tinha a estranha sensação de que deixava algo para trás de vez. Os anos que o tinham transformado de rapaz em homem. Ia para casa, e, no entanto, nada
lá seria idêntico às memórias que guardara todo o tempo.
E havia outro sentimento a perturbá-lo. Tentava afastá-lo, enquanto a barcaça seguia o curso do rio até ao mar distante. Por fim, entendia a fonte da sua profunda melancolia.
O fundamento dela é que ele se sentia definido por negativas. Não era o rapaz que outrora fora, nem o homem que desejava ser; não era francês, nem corso; não era aristocrata,
nem trabalhador. O mundo ainda tinha de descobrir um lugar para ele. Até lá, tentaria encontrar algum conforto nos braços da família, no seu lar, na Córsega.
Capítulo 38
O brigue entrou no golfo de Ajaccio ao cair da tarde, e o mestre do barco bradou para amainarem as velas. Os marinheiros, sem pressa, treparam as escadas de corda dos dois
mastros e depois espalharam-se ao longo das vergas das velas quadradas. Quando estavam em posição, o imediato deu a ordem, e eles começaram a puxar as velas maiores para cima,
enrolando o pano muito batido pelos temporais nas vergas e atando cada vela com segurança. Napoleão estava em pé na proa, olhando para o comprimento do brigue. Os seus olhos
perspicazes registavam cada aspecto do funcionamento do navio, e ele já possuía um bom conhecimento da função de cada vela e sabia para que servia a maior parte das voltas
que controlavam as posições das velas, bem como os respectivos nomes. A viagem de Toulon
só demorara três dias, mas, com os livros despachados no porão, não tinha havido muito mais que ele pudesse fazer, para além de ficar no convés a absorver cada minuto da vida
a bordo.
Virou-se e sentiu o pulso a acelerar, ao vislumbrar as muralhas de pedra da cidadela a entrarem pelo golfo adentro. À esquerda, uma pequena faixa amarela revelava a praia,
que se estendia do aglomerado de edifícios pálidos com telhados vermelhos até ao mar. Ali, à distância de poucos minutos a pé, estava o lar onde tinha crescido de bebé a rapazinho.
Fora há muitos anos, reflectia com uma crescente emoção. A aproximação ao porto era uma viagem que fizera muitas vezes em barcos de pesca, que agora em nada lhe parecia familiar,
como se ele se estivesse a aproximar de uma terra estranha. Subitamente, sentiu a perda de todos os anos que poderia ter passado em Ajaccio. Um tempo que poderia ter passado
com o pai, que não teria morrido a saber tão pouco acerca do filho.
Apenas com a vela triangular desfraldada, o barco deslizou quase imperceptivelmente sobre as águas paradas do porto, dirigindo-se a um espaço vazio no cais. Vários pescadores
estavam sentados, de pernas cruzadas nas pedras do chão, a remendar as suas redes, e alguns pararam o trabalho para observar a chegada do brigue.
Os carregadores, à sombra da casa da alfândega, desencostaram-se e caminharam em direcção ao cais. Iam pegar nas cordas de atraque, que a tripulação do brigue estava pronta
a atirar para terra. Os cabos atravessaram pelo ar a pequena distância da água entre o navio e o cais e foram apanhados e postos à volta dos cabeços. A seguir, os homens puxaram
o brigue para o cais, até que encostou nos sacos de cânhamo cheios de cordame. Napoleão tinha pedido que a sua arca e mala fossem trazidas para cima, quando entraram no golfo,
e agora estava sentado na arca e esperava impaciente que a tripulação completasse a amarração e baixasse a prancha para poder ir para terra. Após um ligeiro atraso, o mestre
gritou a ordem, e os homens estenderam a prancha estreita para fora do barco, até tocar no cais, e depois deixaram cair a outra ponta no brigue. Napoleão fez sinal a um dos
carregadores.
- Arranje-me um carrinho de mão.
- Sim, senhor.
Enquanto aguardava que o homem descarregasse a sua bagagem, Napoleão atravessou a prancha e pôs os pés no chão do cais. Sentiu uma onda de alegria ao tocar de novo na sua
terra natal. Caminhou devagar pelo cais até aos pescadores mais próximos. Aquela cara era-lhe familiar, e ele estabeleceu a ligação num instante. Este era o homem cujo pé
pisara anos atrás. O pescador levantou a cabeça para ver melhor o jovem magro de uniforme francês. Napoleão sorriu e cumprimentou o homem no dialecto local.
- O Pedro ainda trabalha nos barcos de pesca?
- Pedro? - O homem encolheu os ombros.
- Pedro Calca - explicou Napoleão. - Tenho a certeza de que era esse o nome dele.
- Não. Morreu há quatro anos. Afogado.
- Oh... - Napoleão ficou triste. Tinha pensado que poderia causar alguma impressão no velhote com o seu uniforme.
O pescador não tirava os olhos dele.
- Eu conheço-o? A sua cara parece-me familiar. E não fala como um francês.
- Encontrámo-nos antes, mas já foi há muito tempo.
O homem continuou a olhar fixamente para Napoleão, por mais um bocado, e depois abanou a cabeça.
- Desculpe, não me lembro.
Napoleão fez-lhe sinal com a mão.
- Não tem importância. Talvez noutra ocasião.
Olhou para o brigue e viu que o carregador, auxiliado por um dos marinheiros, se esforçava bastante para levar a sua arca para terra. Quando chegaram ao cais, colocaram a
arca no carrinho de mão, deixando-a cair com grande estrondo, no momento em que Napoleão se aproximou deles.
- Que tem lá dentro, senhor? - O carregador estava ofegante, devido ao esforço que fizera para transportar a arca. - Ouro?
- De um certo tipo. Ouro de homem pobre. - Napoleão deu uma gargalhada. - Livros. Apenas livros.
- Livros? - O carregador abanou a cabeça. - Para que quererá um jovem uma arca cheia de livros?
- Talvez para os ler.
O carregador encolheu os ombros, não muito certo da sanidade mental do jovem oficial do exército.
- Então, onde fica hospedado, senhor?
- Não sou hóspede. Vou para casa.
A mala foi colocada no carrinho, e partiram, com Napoleão a indicar o caminho. O Sol estava baixo no céu, e as ruas enchiam-se já de sombras das silhuetas dos telhados, reveladas
por aquela luz de fogo. Saindo do porto, subiram a pequena inclinação que levava ao centro da cidade velha, aninhada na maciça cidadela em forma de estrela irregular. Napoleão
conhecia estas ruas e travessas intimamente, mas parecia que as estava a ver como se fosse um estranho.
Ouvia-se o som das rodas de ferro do carrinho de mão a girar sobre as pedras da rua, quando se aproximaram do canto da casa. No lado de fora, Napoleão levantou a tranca da
porta da rua e ajudou o bagageiro a
descarregar a arca do carrinho e a carregá-la até ao hall de entrada, no rés-do-chão. Depois, pagou ao homem e fechou a porta silenciosamente. Havia um cheiro estranho no
ar. Sorriu, quando se apercebeu de que fora sempre assim que cheirara, mas que nunca o notara antes. O som de vozes chegava-lhe do andar de cima, e reconheceu logo o tom agudo
e autoritário da mãe. Depois, a voz de José, tão baixa que não conseguia distinguir as palavras. As outras vozes eram-lhe desconhecidas.
Napoleão respirou fundo, tirou o bicórneo da cabeça e pousou-o sobre o sofá à entrada e depois subiu as escadas, caminhando o mais silenciosamente que lhe era possível, até
chegar ao patamar do primeiro andar. Os sons da família estavam do outro lado daquela porta, que dava para um grande salão, onde brincara quando era criança. Pôs uma mão na
tranca, ergueu-a e empurrou a porta. As janelas largas, que existiam numa das paredes, estavam abertas, e os últimos raios de Sol do dia penetravam no salão, banhando o interior
com um tom alaranjado. No meio do salão havia duas grandes mesas, de uma ponta à outra. Na mais próxima estava sentada a família. A mãe estava de costas para a porta. À esquerda
dela estavam o José, o Lucien e um rapazinho que ele não reconheceu, mas que sabia ter de ser o Louis. À direita da mãe estavam duas meninas a ladearem um bebé: as suas irmãs
Pauline e Caroline e o irmão mais novo, Jérôme.
A rapariga mais velha viu Napoleão na ombreira da porta. Os olhos dela abriram-se, alarmados:
- Mamã! - Apontou. - Está ali um soldado!
- Pauline! - A mãe esticou uma colher de pau e deu à rapariga uma pancada forte nos nós da mão. - Pela última vez, acabaram-se as tuas estúpidas brincadeiras à mesa!
José olhava agora para a porta, com a colher paralisada sobre a tigela do guisado. O olhar de surpresa transformou-se numa expressão de choque.
- Napoleão? - murmurou.
Napoleão viu as costas da mãe a endireitarem-se de repente, e depois viu-a a virar a cabeça e a olhar por cima do ombro, com os olhos esbugalhados. Ficou parada a olhar para
ele. Ouviu-se o som da colher de pau a cair no chão, e a mão que a segurara tapou a boca em seguida. A cadeira foi empurrada para trás e tombou, quando ela se levantou e correu
para o filho, com as saias negras a roçarem no chão. O rosto de Napoleão abriu-se num largo sorriso de alegria, e abriu os braços para a acolher. Embora magra, ela tinha força
nos braços, e ele sentiu-se esmagado pelo abraço materno. No momento seguinte, ela afastou-se, mantendo-o à distância de um braço, embevecida com a figura do filho e com os
lábios a tremer:
- Naboleone... Que fazes tu aqui?
- Pedi licença para vir, mãe.
- Licença? - O rosto dela tornou-se ansioso. - Quanto tempo
tens?
- Que bela recepção de boas-vindas! - Napoleão espicaçou a mãe.
- Ainda não cheguei há um minuto, e já me pergunta quando me vou embora.
- Oh, eu não queria dizer...
- Está tudo bem, mãe. - Inclinou-se e beijou-a na testa. - Estava a brincar.
- Estiveste fora oito anos e ainda não cresceste. Quanto tempo ficas?
- Até Abril do ano que vem.
A tensão dela acalmou com a resposta:
- Sete meses. Isso é bom. Muito bom... Que estou eu a dizer? - Voltou-se para os outros, ainda sentados à mesa. - Este é o vosso irmão, Naboleone, que o pai levou para França
há quase oito anos. Vem, Naboleone, ou, como te apelidas agora, Napoleão.
Ele sorriu.
- No meu coração serei sempre Naboleone.
Ela conduziu-o à mesa e pegou na sua cadeira.
- Senta-te.
Quando ele se sentou no lugar da mãe, José pousou a colher, agarrou na mão do irmão e colocou-a no meio das suas.
- Nem acredito no que vejo. És tu. Depois de tantos anos. Quando deixaste Autun, não calculava quando te tornaria a ver. Nunca pensei que passasse tanto tempo. Meu Deus! É
bom rever-te!
- E a ti também, José. - Sorriu com gosto. - Não calculas como senti a tua falta. - Olhou em volta, para os outros, que o observavam fixamente. - O Lucien está quase um homem.
O Louis era um bebé quando me fui embora. Olha para ele agora! Quase da idade que eu tinha quando parti para França. Mas vocês os três, Pauline, Caroline e Jérôme, vocês só
existiam nas cartas que recebia daqui... Não querem dar um beijo ao vosso irmão?
Abriu os braços, mas as meninas coraram, sentiram-se inseguras e não se aproximaram dele. Com um estalar de língua, a revelar impaciência, a mãe deu a volta à mesa e empurrou-as
para o irmão. Elas ainda tinham medo e agarraram-se à mãe, quando Napoleão tentou agarrar-lhes as mãos. Encolheu os ombros, magoado e um bocadinho zangado com a resistência
delas, mas concluiu que era uma reacção natural. Elas não o conheciam. Tinha de lhes dar tempo para se acostumarem a ele. Naquele momento, o seu coração enchia-se de tristeza
por causa dos anos perdidos. Parecia que
havia sacrifícios exigidos pelas carreiras que não tinham justificação. As lágrimas afloraram-lhe os cantos dos olhos, mas ele limpou-as com as pontas dos dedos. Inclinou-se
para as irmãs e fez-lhes uma festa nos cabelos, exibindo um regozijo forçado.
- Não faz mal! Em breve nos conheceremos. E tenho tantas histórias de França para vos contar!
Capítulo 39
Mais tarde, quando as crianças já tinham ido para a cama, Napoleão sentou-se com a mãe e José numa das pontas da mesa. Letizia fechara as portadas, e o salão estava iluminado
apenas por um par de velas, o que deixava o grande espaço à volta deles em sombria escuridão. Ela trouxera uma garrafa de vinho da adega, e encheu três copos.
- O teu pai e eu estávamos a guardar esta garrafa para celebrar a tua graduação como oficial. - Fez um sorriso triste, e depois ergueu o rosto.
- À tua saúde, tenente Napoleão Buona Parte.
- Não. - Napoleão abanou a cabeça. - Não vamos brindar a mim. Vamos brindar ao pai. - Ele e os outros ergueram os copos ao mesmo tempo e depois beberam o excelente vinho.
Napoleão pôs o pé do copo entre os dedos e colocou a taça na palma da mão. - Tem sido difícil, desde que o pai morreu?
Letizia encolheu os ombros.
- Mal conseguimos sobreviver.
- Ele deixou muito dinheiro?
- Deixou dinheiro? Tudo o que me deixou foi um monte de dívidas.
- Não foi culpa dele - interrompeu José. - Ele foi enganado.
- Que aconteceu? - perguntou Napoleão. - Quem o enganou?
- O governo. Há quatro anos, o pai assinou um contrato com uns funcionários enviados de Paris com o intuito de desenvolver meios de expandir a economia da Córsega. Eles alegavam
que tinham poder para subsidiar todo o tipo de projectos de agricultura, um dos quais envolvia a nossa família. O pai comprou uma plantação de amoreiras, com vista a plantar
as árvores e a vendê-las após terem crescido durante cinco anos. Os funcionários deram a garantia de que as árvores seriam compradas pelo governo, por um determinado preço.
Letizia abanou a cabeça.
- Ainda o estou a ouvir: "Como podemos perder?" Ora, acabámos por saber exactamente como podíamos.
Napoleão fez um sinal com a cabeça ao irmão.
- E que aconteceu depois?
- Há dois anos, quando o primeiro pagamento do subsídio devia ter sido recebido, o governo cancelou o contrato, sem aviso prévio. O pai recebeu apenas a notificação de que
as árvores já não eram precisas. Tentou encontrar outro comprador, mas não há mercado para a amoreira, ou, pelo menos, não há ninguém que pague os custos de manutenção da
plantação. Até à morte, ele tentou que o governo o indemnizasse, mas nada feito. Entretanto, não podíamos pagar aos homens que tratavam das árvores. Desde então, ninguém tem
tratado da plantação. Quando o pai morreu, o Banco de Génova, que lhe tinha emprestado o dinheiro para iniciar a plantação, executou a cobrança da dívida.
- O que não pudemos fazer - acrescentou Letizia, encolhendo os ombros. - Não temos dinheiro. A renda que cobramos ao tio Luciano nem sequer chega para alimentar a família
e assegurar que os miúdos vão à escola. Se não fosse pelos presentes monetários do tio Luciano, teríamos de vender a casa e as terras e a malvada da plantação. E, mesmo assim,
duvido que obtivéssemos dinheiro suficiente para pagar o empréstimo ao banco.
- Não podemos vender a terra apenas? - sugeriu Napoleão. - Pagávamos uma parte ao banco e pedíamos novo prazo para pagar o restante.
- Não. - José fez um sorriso apagado. - É esse o problema. Para contestarmos a recusa do governo em pagar o subsídio, temos de estar de posse das terras a que se aplica o
contrato. Estamos apanhados entre o governo e o banco. A única esperança que tenho é que o mercado recupere e que encontremos compradores para aquelas árvores.
- E há perspectivas de que recupere?
- É impossível saber - respondeu José. - Mas se não começamos a tratar da plantação, em breve não valerá nada.
- Compreendo. - Napoleão matutou silencioso, por instantes. Olhou para o irmão. - Então, teremos de pôr a plantação como deve ser. Tu e eu, José. Onde fica ela?
- Não longe daqui. Perto da casa da mãe, em Mellili.
- Óptimo! Podemos viver lá, enquanto recuperamos a plantação.
- A casa está quase em ruínas.
- Não há problema. Faremos reparações à casa também. Anda lá, José. Não tens medo de um bocado de trabalho duro, pois não?
- Claro que não. Mas eu não posso ficar aqui muito mais tempo. Tenho de voltar para o meu estágio de Direito.
- Com certeza. Mas vamos fazer o que pudermos juntos, antes de partires. Que dizes, irmão?
José olhou para a mãe, mas ela estava a observar as mãos em silêncio. Tornou a olhar para o irmão.
- Porque não? Vamos a isso! Talvez o mercado recupere afinal.
- Assim é que é! - Napoleão riu-se e encheu outra vez os copos dos dois. - Aos irmãos Buona Parte, filhos da terra.
José respondeu com uma gargalhada e encostou o seu copo ao do irmão.
- Morte aos banqueiros!
- Morte ao Governo Francês! - respondeu Napoleão, despejando o copo pela boca abaixo, enquanto a mãe e o irmão o fitavam surpreendidos.
José clareou a voz:
- Esse é o tipo de brinde que ninguém esperaria de um oficial de Sua Muito Católica Majestade, o Rei Luís.
- Oficial francês por fora, leal corso por dentro, até ao âmago - sorriu Napoleão. - Não te deixes enganar pelo uniforme.
- Eu, talvez não, mas há outros que tomarão a aparência por essência.
Letizia pôs a mão no braço do filho.
- Tens de ter cuidado, Naboleone. Há muita gente na Córsega que não aceitou o domínio francês.
- Incluindo eu.
- Duvido que isso tenha muito peso, se fores apanhado nesse uniforme, mesmo a pouca distância de Ajaccio. As coisas mudaram muito nos últimos oito anos. Os paolistas têm andado
a agitar a situação. Parece que uma potência estrangeira os está a financiar com ouro, para manterem vivo o espírito da resistência. Os franceses podem controlar as estradas
e as cidades, mas perderam o controlo de grande parte do centro da ilha. As tropas e os oficiais têm medo de se aventurar para muito longe da costa. E isso dá aos rebeldes
alguma confiança. Até já houve emboscadas de patrulhas francesas a um tiro de Ajaccio. Portanto, peço-te, tira esse uniforme, enquanto aqui estiveres.
Napoleão escondeu a sua discordância. Não obstante o seu apoio assumido à independência da Córsega, ele tinha orgulho no seu uniforme. Agora, mais do que nunca, estava convencido
de que nascera para ser um soldado e usava o casaco azul-escuro com debruns vermelhos como se fosse uma segunda pele. No entanto, conseguia ver como a mãe estava preocupada
e precisava de tranquilizá-la.
- Tenho umas roupas de civil na mala. Vou usá-las.
Letizia descontraiu-se um pouco e alguma da preocupação desapareceu do seu rosto.
- Obrigada. Eu sei que isso significa muito para ti, mas tens de pensar na tua segurança e na nossa. Por favor, evita sarilhos.
Napoleão assentiu. A tradição de vendetta da ilha significava que a desonra do indivíduo se estendia a toda a família. A ironia estava no facto de Napoleão sentir um desejo
ardente pela independência da Córsega. Mas qualquer rebelde, escondido numa estrada de montanha para emboscar os ocupantes, certamente lhe daria um tiro, muito antes de Napoleão
ter oportunidade de se explicar.
- Não se preocupe, mãe. Vou manter-me à parte. Aliás, tenho em mente algumas tarefas que devo começar agora. Quero escrever uma história da Córsega. Isso vai manter-me ocupado.
- Uma história? - Letizia arqueou as sobrancelhas e murmurou.
- Para que servirá isso?
José fitou o irmão mais novo, por um momento, e depois deu uma gargalhada.
- Que é? - Napoleão franziu o sobrolho - Que se passa?
- Não é nada. É que não te vejo há tanto tempo, desde a altura em que eras um miúdo com mau feitio. Agora és, como dizes, um homem. E um homem sério e concentrado, sem dúvida.
Ainda vou precisar de algum tempo para me habituar às tuas mudanças.
- José tem razão - assentiu Letizia. - Tu estás mudado. Parece que perdi o meu menino para sempre.
Ela levantou-se, de repente, e caminhou apressada para a porta. Apenas quando já se encontrava do outro lado, começou a chorar.
No dia seguinte, depois de as crianças terem ido para a escola, José ajudou o irmão a desfazer as malas. Quando levantou a tampa da arca, abriu a boca espantado que contivesse
pouco mais do que livros e um pequeno conjunto para escrita. À medida que os livros iam sendo retirados e colocados na sua nova casa, um velho armário de louças, José maravilhava-se
com a abrangência das leituras do irmão.
- Não leste tudo isto, certamente?
- Li todos. Só guardo os livros que me interessam. É uma das vantagens de viver em França - sorriu Napoleão. - Há possibilidade de se ler tudo o que existe e de seleccionar
que sabedoria vale a pena reter ou não. Isto - bateu na arca -, isto é o que é bom.
- Um dia, a tua história da Córsega estará dentro de uma arca como
esta.
Napoleão riu-se.
- Espero que sim. Seria agradável deixar uma marca qualquer no mundo. E tu, José? Qual é a tua ambição?
- Eu? Não pensei nisso ainda. Neste momento estudo advocacia, mas que desejarei fazer, de facto...? - pensou por instantes. - Acho que a minha ambição é ter mulher, filhos
e uma casa confortável.
- Só isso?
- Sim.
Napoleão abanou a cabeça, em parte por descrença, em parte por pena. Não que transmitisse esses sentimentos ao irmão. José poderia não ter muita motivação para triunfar, mas,
por debaixo de tudo aquilo, era, por natureza, um bom homem, qualidade que Napoleão reconhecia e valorizava.
Seleccionou uns livros e colocou-os numa grande sacola, juntamente com uma muda de roupa. Depois, olhou para José, que ainda arrumava os livros.
- Bem, se queres realizar a tua ambição, temos de pagar as dívidas do pai. Logo que esteja instalado, vou a Mellili uns dias, para ver o que precisa de ser feito para restaurar
a casa. Não me agrada ter de me ir embora já, mas precisamos de arranjar alguma forma de rendimento. Se tivermos sorte, talvez possamos alugar a quinta. Enquanto lá estiver,
darei uma olhadela à plantação.
- Eu ia contigo, mas tenho de estudar para um exame. - José sorriu-lhe. - Logo que acabe, vou ter contigo.
Capítulo 40
A aproximação do Outono era evidente, quando Napoleão seguiu a pé pela estrada que ia de Ajaccio para os montes. O ar estava mais fresco, e as folhas das árvores começavam
a tornar-se amareladas e castanhas-ferrugem. Mas, para ele, a experiência de caminhar pelos montes, que não via desde criança, enchia-o de uma alegria genuína, que não sentira
durante anos, e cada sentido se alimentava dos pormenores da paisagem que o rodeava. Quando chegou a uma curva da estrada, que rodeava uma elevação escarpada, parou, sentou-se
num bloco de rocha lisa e contemplou Ajaccio, lá em baixo, e o mar azul brilhante, ao fundo. Depois de conhecer Paris, a sua cidade natal parecia-lhe pequena e provinciana.
Pela primeira vez, percebeu como o pai se devia ter sentido se tivesse deixado os filhos estudar em Ajaccio. Eles nunca seriam nada na vida. Embora a cidade fosse um local
simpático no meio de nenhures, bom para constituir família, podia tornar-se numa armadilha, se eles lá permanecessem. Ao olhar para os telhados vermelhos aglomerados em redor
do porto, à sombra das espessas muralhas da cidadela, Napoleão não podia deixar de sentir que pertencia àquele lugar e que o pai tinha feito mal em mandá-los
para fora. Talvez uma vida sossegada de encanto pastoril tivesse sido gratificante o suficiente.
Pôs-se de pé e deitou um último olhar a Ajaccio, e os olhos fixaram-se na cidadela, onde a bandeira dos Bourbon brilhava ao sol. Figuras diminutas de uniforme branco patrulhavam
as muralhas. Napoleão franziu o sobrolho, ao notar a distribuição regular das peças de artilharia ao longo do muro interior. Deviam ter sido colocadas nos bastiões exteriores,
de onde podiam visar qualquer atacante. Interrompeu esta linha de pensamento com um sorriso divertido. Estava de licença. Não tinha de se preocupar com assuntos militares
durante muitos meses. O comandante da guarnição que colocasse os canhões onde quisesse. Por enquanto, o mundo estava em paz, e não havia atacantes de que se defender. E certamente
que havia coisas mais interessantes para lhe ocupar a mente do que manuais acerca da disposição de peças de artilharia.
Com Ajaccio a ficar oculto pelo monte, Napoleão prosseguiu feliz a caminhada através de pequenas quintas e olivais, de que se recordava da infância. Cumprimentou as poucas
pessoas com que se cruzou no caminho, mas, embora a criança tivesse sido conhecida da maior parte delas, o jovem magro, de longos cabelos escuros e olhos acinzentados estranhamente
atraentes, não o era, e elas responderam ao seu sorriso com a típica reserva corsa.
Era perto do meio-dia quando chegou ao local onde a estrada se entroncava com o caminho que seguia para a aldeia de Alata. Um pouco adiante, encontravam-se os pilares da entrada
da quinta, que era propriedade da sua família há gerações. Passando os pilares, a vereda que conduzia à casa estava cheia de ervas e raízes e já só era definida pela linha
de choupos que cresciam numa das bermas, pela colina acima, no meio de terraços de olivais abandonados. Ao chegar ao topo, Napoleão já conseguia ver a casa, uma baixa estrutura
de pedra, com anexos numa das poçttas. Não havia vivalma. Ao aproximar-se, notou as telhas que faltavam no telhado, as rachas nas paredes e a tinta descorada e a escamar nas
portadas das janelas. Era visível que a casa necessitava de muito trabalho, até que pudesse ser habitada por um rendeiro.
Subindo os poucos degraus até à entrada, levantou a tranca e empurrou a porta pesada. Cheirava a mofo e a terra. Ouviu-se um leve rastejar no chão de azulejos, ao fugir do
intruso um grande lagarto. Napoleão pousou a sacola em cima da mesa e explorou a casa, abrindo as portadas, divisão após divisão. Faltavam telhas por cima da maior parte dos
quartos, e a chuva entrara e manchara o chão. Num dos quartos de dormir, uma parte do tecto tinha caído e esmagado um berço de criança. A hera crescera nalgumas janelas, e
os ramos mais fortes tinham conse-
guido penetrar dentro de casa e espalhar-se pelas paredes.
Lá fora, o pátio estava cheio de ervas daninhas, e os canteiros de flores tinham desaparecido, substituídos pela natureza selvagem.
Levaria tempo, mas a propriedade podia ser recuperada, até ficar em condições de ser alugada. Começaria pela casa, decidiu, e voltou para dentro.
Começou por rachar algumas das mobílias estragadas, para as usar como lenha. No final do dia tinha varrido o lixo da maior parte dos quartos, cortado a hera das janelas e
limpado o entulho do quarto cujo tecto abatera. Quando caiu a noite, acendeu o lume e pegou no chouriço, no pão e no odre de vinho que tinha na sacola. Enquanto comia e bebia,
à luz ondulante da lareira, o cantar das cigarras nos olivais fê-lo sorrir. Quando era miúdo, costumava queixar-se de que não o deixavam dormir. Agora parecia que lhe davam
as boas-vindas a casa.
Na semana que se seguiu, trabalhou metódica e constantemente, limpando quarto atrás de quarto, substituindo telhas e reparando portas e portadas danificadas. No terceiro dia,
quando comia a ceia junto à pequena fogueira, e a escuridão caía lá fora, ouviu fortes pancadas na porta da rua. Napoleão sobressaltou-se com o barulho. Não ouvira sons de
passos a aproximarem-se pela vereda empedrada, nem pelos degraus da entrada. Pousando o pão e o chouriço em cima da mesa, limpou as mãos, caminhou devagar até à porta da rua
e abriu-a.
Ali, sob o brilho mortiço da luz do crepúsculo, estava um homem alto, coberto pela capa de lã lustrosa dos pastores. Só que ele usava botas de couro fino e carregava um mosquete.
Não era uma arma de caça, mas de guerra. Napoleão reparou nisto tudo, antes de se concentrar na cara do homem. Devia estar na casa dos trinta anos, tinha cabelo escuro encaracolado
e olhos azuis brilhantes.
Desconcertante, cumprimentou Napoleão com um largo sorriso e uma inclinação de cabeça, perguntando:
- Signor Naboleone Buona Parte?
- Sim, sou eu. Em que posso ajudá-lo, Signor...?
- As pessoas chamam-me Benito. - Ele enfatizou o nome, como se Napoleão tivesse de o conhecer. - Posso entrar?
- Porquê? - Napoleão sentiu o coração a acelerar. - Já é tarde.
- Infelizmente não é fácil para mim deslocar-me durante o dia. - Benito tornou a sorrir. - Digamos que a minha existência não é apreciada pelos franceses. Para além disso,
o que tenho a tratar consigo não pode esperar.
Napoleão fitou-o por instantes e reconheceu que o homem era muito mais alto do que ele e estava armado.
- Muito bem, então. Entre, por favor.
Na cozinha virou-se para Benito e indicou-lhe a cadeira.
- Sente-se aí. Eu vou buscar outra. Sirva-se de comida, se quiser.
- Obrigado, Signor. Tenho fome. A natureza dos meus deveres implica que, às vezes, passo dias sem comer.
- Compreendo. - Napoleão pegou num banco e sentou-se em frente do homem. Benito encostou cuidadosamente o mosquete à parede atrás de si e atirou com a capa para trás, por
cima dos ombros largos. Do cinto retirou um punhal longo e, sem tirar os olhos do anfitrião, cortou um pedaço de chouriço e deu-lhe uma dentada.
Napoleão pigarreou.
- Disse que tinha assuntos a tratar comigo.
Benito assentiu, mastigando e engolindo o pedaço de chouriço.
- Disseram-me que havia um homem a trabalhar aqui. Quando souberam o seu nome na aldeia, eu pedi informações a seu respeito em Ajaccio.
- E então?
- E então, parece que é um oficial da artilharia francesa, supostamente gozando licença por estas bandas.
- Se as informações do seu espião são boas, também saberá que sou filho de Carlos Buona Parte, que lutou ao lado do general Paoli, em Puonte Nuovo.
- Tenho conhecimento disso. Eu conhecia o seu pai. - Benito sorriu. - Por isso, ainda está vivo. Por enquanto.
A tensão entre os dois homens aumentou instantaneamente, e o coração de Napoleão batia apressado, enquanto pensava na maneira como poderia levar a melhor sobre o outro. Benito
deu uma gargalhada repentina e cortou outro pedaço de chouriço.
- Relaxe, tenente. Estou apenas interessado em saber mais acerca do filho de um patriota corso, que enverga o uniforme do nosso inimigo.
- Não sou traidor, nem espião, se é nisso que está a pensar. - Napoleão respondeu com fúria. - Sou um soldado de licença. Estou a tentar ajudar a minha família a sobreviver
a uma crise em que o governo francês a envolveu, por acaso. Portanto, agradeço-lhe que não questione as minhas motivações, nem o meu patriotismo. E você? Quem é? - Napoleão
fixou o olhar em Benito, ao recordar algo que a mãe lhe tinha dito. - Assumo que seja um dos homens de Paoli.
- Claro que sou.
- Então saberá que o general é apoiado por uma potência estrangeira.
Benito cerrou os lábios.
- É verdade.
- Sabe de que potência estrangeira se trata?
- Não.
- Diz ser um patriota, e, no entanto, bem pode andar a trabalhar para alguém que se pode vir a revelar inimigo da independência da Córsega. Ocorrem-me uns quantos países que
poderão desejar que o povo corso corra com o poder francês para que possam eles apoderar-se da ilha. - Apontou com a cabeça para Benito. - Isso torna-nos idênticos.
- Não idênticos... mas perto. Muito bem, Naboleone, aceito que é um patriota, mas que aconteceria se o exército francês o mandasse combater os corsos?
Napoleão ficou um momento em silêncio.
- Rezo para que esse dia nunca chegue.
- Pode chegar, mais cedo do que pensa.
- Talvez; mas, até lá, continuarei a persuadir cada francês que conheço a apoiar a independência da Córsega. Se os franceses nos dessem isso, seríamos os seus mais acérrimos
aliados.
Benito riu-se.
- Teremos de continuar a tratar da saúde aos franceses. Você continuará a tentar convencê-los, e eu continuarei a matar os que não o ouvirem. A trabalhar em conjunto, no fim,
teremos o que queremos. - Logo a seguir, a boa disposição desvaneceu-se no seu rosto, como se fosse uma vela a ser apagada. - Mas, se alguma vez o vir de uniforme a comandar
tropas contra nós, mato-o a si e à sua família. Faço-me entender?
Napoleão anuiu.
Benito pegou no odre de vinho.
- Um brinde à Córsega, orgulhosa e livre. - Retirou a rolha e deu um grande gole; a seguir, entregou o odre a Napoleão.
- À Córsega, orgulhosa e livre - repetiu Napoleão e bebeu um trago-
- Aí está! Agora estou cansado. Tenho de ir.
Napoleão indicou-lhe a saída da cozinha e a sala de entrada. Quando abriu a porta, apercebeu-se de movimento nas sombras, no exterior da casa. A pouca distância, iluminados
pelo luar, encontravam-se quatro homens armados com mosquetes. Napoleão ergueu as sobrancelhas ao vê-los, e Benito deu uma gargalhada.
- Não estava à espera que eu ficasse à sua mercê? Só queria pô-lo à prova, nada mais. Não valia a pena arriscar a minha vida por causa disso. Noutro dia nos reencontraremos.
Até lá, considere-se avisado. Enquanto cá estiver em visita à família, não corre perigo. Mas, se algum dia regressar à
Córsega como oficial francês em serviço, eu próprio lhe ponho as tripas à mostra, sem qualquer remorso.
- Está entendido.
- Então, adeus, Naboleone Buona Parte. Até que nos encontremos numa Córsega livre.
- Até lá. - Napoleão estendeu a mão, e o outro apertou-lha. Depois, Benito virou-se, caminhou para os seus homens e liderou-os através da escuridão do olival.
Napoleão regressou a Ajaccio no final da semana e contou à mãe e a José o que tinha feito. Após alguma reflexão, tinha resolvido não lhes falar do encontro com Benito. Só
os iria preocupar desnecessariamente. Foi buscar algumas ferramentas a um ferreiro local e persuadiu José a regressar com ele a Mellili, para ajudar nas reparações.
- Mas eu tenho de estudar Direito - queixou-se José.
- Podes fazê-lo à tardinha, depois de o trabalho estar acabado.
- Talvez possa. - José pensou um pouco na hipótese e assentiu.
- E vamos estar mais tempo juntos.
- É verdade. Mas isto não são férias, José. Temos de reparar a casa, o mais depressa possível, se queremos engendrar algum rendimento para a mãe.
Quando o Outono ia sendo substituído pelo Inverno, os dois irmãos trabalharam duramente nas reparações da casa, e, quando as chuvas frias caíram nos montes, eles já se puderam
abrigar lá dentro, confortavelmente. Não houve mais visitas de Benito, e, passado um mês, Napoleão deixou de o procurar a ele, ou aos seus homens, no meio dos olivais e dedicou
a sua total atenção à restauração da propriedade.
Com a chegada do frio cortante do ano novo e de mais chuva, Napoleão e José retiraram-se para Ajaccio, para prepararem a papelada para a reclamação da indemnização. A administração
local alegava não ter qualquer autoridade no assunto e a única esperança de uma decisão no caso era apresentá-lo directamente ao governo de Paris.
Quando o Inverno chegou ao fim, Napoleão percebeu que precisava de bastante mais tempo para assegurar que as dificuldades financeiras da família fossem ultrapassadas. Pediu
um prolongamento da licença, alegando que a sua saúde estava fraca e que tinha sido aconselhado a repousar e a recuperar na totalidade, antes de regressar ao serviço. O prolongamento
foi pontualmente concedido, e, enquanto os trabalhos prosseguiam em Mellili, Napoleão completou os documentos que apoiavam o pedido e enviou-os para Paris. Com a família a
aguardar uma resposta, José regressou a Itália para prosseguir o seu estágio de advocacia, e Napoleão passou as noites a
trabalhar no início da sua história da Córsega, escrevendo até tarde na noite, para compensar o tempo que perdera a renovar a casa e as terras.
Finalmente chegou uma resposta de Paris, e Letizia juntou-se-lhe no salão da casa, em Ajaccio, para ouvir Napoleão a ler a carta na íntegra. Era breve, educada e directa ao
assunto. O funcionário do Tesouro que tratava de disputas contratuais agradecia à família pela documentação, mas lamentava informá-la de que nada mais poderia fazer até que
o queixoso enviasse um representante a Paris, para apresentar o caso em pessoa.
- Porquê? - perguntou Letizia. - Que diferença podeiazer? Estava tudo nos documentos.
- Claro que estava, mãe - respondeu Napoleão.
- Então, porque exigem que enviemos alguém? Acharão eles que temos tempo e dinheiro para isso?
- Claro que não. Estão à espera que tenhamos de permanecer na Córsega, para que o caso seja protelado o tempo suficiente e todos o esqueçam.
Letizia recostou-se na cadeira.
- Então, que podemos fazer?
- Eu posso ir a Paris forçá-los a prosseguir com o processo de indemnização e não sair de lá até que o façam.
Letizia fitou-o por instantes e anuiu.
- Gostaria de te poder acompanhar, mas tenho os teus irmãos e irmãs. Eles precisam de mim aqui... Quando partes?
- Logo que possível. - Pegou na mão da mãe e apertou-a com delicadeza. - Vai ficar tudo resolvido, e a mãe terá tudo a que tem direito.
Capítulo 41
Foi no final do Outono que Napoleão chegou a Paris. O tio Luciano tinha-lhe dado dinheiro suficiente para poder sobreviver na capital até ao novo ano, se fosse necessário.
Mas Napoleão esperava ter o assunto resolvido nessa altura e ter regressado ao exército, dado que o período de licença teria chegado ao fim. Teria passado quinze meses longe
do regimento e não conseguia imaginar como poderia abusar da paciência do exército por muito mais tempo.
Consciente de que necessitava que os seus parcos fundos chegassem para o máximo de tempo possível, alugou um quarto num dos hotéis mais baratos que encontrou: uma casa velha,
manchada de gordura, junto ao rio, perto de Notre-Dame. Se o vento frio soprasse na direcção errada, o odor fétido do rio impregnava todos os quartos do Pays Normandie, mesmo
o quartinho no sótão onde o tenente Buona Parte expiava os seus dias, depois
de tratar dos seus assuntos no Gabinete do Tesouro e de passear no centro da cidade, com as mãos cruzadas atrás das costas e a cabeça baixa, a meditar profundamente.
Napoleão descobriu uma pequena biblioteca próxima do hotel, onde podia escolher entre variados volumes de romances, peças e filosofia. A biblioteca de Monsieur Cardin ocupava
o rés-do-chão de um edifício que, no restante, era ocupado por uma empresa que empregava costureiras na confecção de vestidos para clientes ricos. Monsieur Cardin era magro
e poupado, vestia roupas velhas e usava uma peruca, da qual todo o empoamento tinha desaparecido há anos e que agora parecia lã de encher colchões. Os seus óculos de aros
grossos eram espessos e faziam com que os olhos castanhos-escuros parecessem pequenos borrões de tinta. A negligência na sua aparência devia-se à sua obsessão, ao seu verdadeiro
amor: os livros, que preenchiam todas as paredes da casa. Os olhos do jovem oficial de artilharia percorriam as filas de livros, felizes e enlevados por estarem perante o
grupo mais ecléctico de escritores que Napoleão poderia imaginar. Naquele momento, ele estava muito interessado nas recentes aquisições de Monsieur Cardin, na secção dedicada
à filosofia política, em particular num novo trabalho, pouco mais do que um panfleto, com o lacónico título de Uma Ordem Nova, cuja introdução começara a ler.
A capital tinha sido inundada de panfletos, desde que o Rei Luís anunciara que iria convocar o primeiro parlamento em duzentos anos. A França estava a ser esmagada pelo peso
de um sistema de governo corrupto e ultrapassado, que dava todas as vantagens aos aristocratas e espremia as bolsas dos pobres até ao último soldo. Precisava-se desesperadamente
de algum tipo de reforma, mas os aristocratas e a Igreja recusavam-se a ceder privilégios, e o rei, rodeado todo o tempo de nobres bajuladores, recusava-se a implementar as
reformas pelas quais gritava a vasta maioria da população. Esse grito de revolta ouvia-se nas multidões furiosas, que se concentravam em todas as cidades, e na vasta produção
de tratados políticos, que enchiam livrarias e bibliotecas. A maior parte destas publicações era pouco mais do que palavras de ordem repetidas, e Napoleão abordou este último
panfleto com poucas expectativas de aprender algo que valesse a pena. No início, o estilo seco quase o levou a desistir, mas, passadas poucas frases, o autor afirmava peremptoriamente
que a época dos reis tinha acabado. Tais eram os avanços na ciência, educação, filosofia e relações sociais, que o próprio conceito de monarquia era um anacronismo que Estado
algum, que se considerasse civilizado, poderia tolerar.
Esta era uma posição que ultrapassava o próprio pensamento de Napoleão. Só recentemente chegara à conclusão de que muitas das Casas Reais da Europa eram tão corruptas que
precisavam de ser varridas e substituí-
das por algo mais eficiente, honesto e justo. Mas Napoleão concebera essas substituições em termos de um sistema monárquico mais iluminado. A ideia de que era a própria monarquia
o problema atingiu-lhe a imaginação como um raio.
Pegou no pequeno livro e levou-o para uma mesa junto à janela e sentou-se para ler mais, à luz que entrava pelo vidro muito sujo. No final da introdução, vinha o crédito do
autor: "Pelo cidadão Schiller, no espírito da liberdade, fraternidade e igualdade."
Cidadão Schiller. Napoleão fixou os olhos nas palavras. Um cidadão, não um súbdito. Como seria um mundo em que os homens vivessem em liberdade e igualdade? Onde a habilidade
natural, não a abundância hereditária, determinasse as perspectivas do indivíduo? Todos os pequenos insultos e tormentos que tinha sofrido às mãos dos aristocratas, durante
anos, em Brienne, na Real Escola Militar de Paris e na messe dos oficiais em Valence, inundaram-lhe a mente como uma grande onda negra. Sentiu-se afogado pela vergonha de
ser tratado como um ser socialmente inferior. Cidadão Schiller... Porque não cidadão Buona Parte, um dia, quando pudesse esfolar a pele das suas origens e fosse julgado pelo
que havia por debaixo dela? Leu durante toda a manhã, até que virou a última página e depois ficou a olhar para lá da janela, para o mundo frio e cinzento da rua atulhada
de lixo.
- Uma leitura que provoca o pensamento, não é?
Napoleão voltou-se e viu que Monsieur Cardin tinha deixado a pequena secretária no pódio, que lhe permitia vigiar a biblioteca, e estava de pé, a poucos passos dele, a arrumar
alguns volumes que tinham sido devolvidos. Os olhos do velhote brilhavam por detrás das lentes, enquanto sorria.
- Este Schiller escreve tanto com o cérebro quanto com o coração
- concordou Napoleão. - Gosto disso.
- Sim, é uma rara qualidade, quando as duas facetas trabalham lado a lado e não se contradizem.
- Mesmo assim - reflectiu Napoleão -, uma coisa é escrever acerca de tal futuro em termos abstractos. O verdadeiro truque é fazer com que aconteça. Interrogo-me se este homem
pensou nisso tudo, este cidadão Schiller, se é esse o verdadeiro nome dele.
- Não é. - Monsieur esboçou um rápido sorriso. - Acha que um homem que expusesse publicamente o conteúdo desse panfleto ficaria livre de perseguição no nosso sistema actual?
- É uma pena. Eu gostaria de ter discutido isto com ele.
- E porque não o faz? - perguntou Monsieur Cardin, em voz baixa.
Napoleão olhou para ele e depois para toda a biblioteca. Havia uma mão-cheia de clientes a ler ou à procura de livros, mas nenhum que esti-
vesse perto o suficiente para os ouvir. Dirigiu a sua atenção de novo para Monsieur Cardin:
- Conhece-o?
- Já me foi apresentado, e sei onde falará depois de amanhã.
Os olhos de Napoleão semicerraram-se.
- Porque me diz tudo isto?
- Disse que gostaria de discutir o panfleto com ele. - Monsieur Cardin encolheu os ombros. - Ele está de visita à capital por uns dias. Ocorreu-me que pudesse estar interessado.
Napoleão estava desconfiado. Seria isto um teste à sua lealdade? Nesse caso, o melhor seria desempenhar o papel que dele se esperava.
- Sou um oficial do rei. Posso informar as autoridades acerca disto. De facto, até posso ser informador da polícia, pelo que sabe de mim.
Monsieur Cardin sorriu trocista.
- Tenente Buona Parte, o senhor é pouco mais do que um rapaz. Não é espião nenhum. Tenho-o visto a vir aqui quase todos os dias, durante as últimas três semanas. Não lê mais
nada do que textos políticos radicais, e gostei muito das poucas palavras que trocámos durante este tempo. Acho-me um bom juiz de carácter e posso afirmar que o seu espírito
político é semelhante ao meu. Baseando-me nisto, não me parece que vá fazer queixa de mim. Aliás, que há para informar? É uma pequena reunião, pouco mais do que uma sociedade
de debates, onde se trocam ideias. Admito que as autoridades não gostem, mas é tudo. Enquanto estas coisas se mantiverem escondidas e não forem uma ameaça, podem ser toleradas.
Portanto, está interessado em conhecer Schiller?
Napoleão pegou no panfleto e considerou a oferta. Seria uma tolice um oficial tão jovem, no início de carreira, ser visto a assistir a uma reunião radical, não importava qual
o número de pessoas presentes. O exército iria considerar tal acção negativamente, e qualquer hipótese de uma carreira brilhante desapareceria para sempre.
- Não, não posso arriscar. - Napoleão pôs-se de pé e endireitou a casaca do uniforme. - Tenho de ir, Monsieur. Tenho um encontro a que não posso faltar.
- Certamente que sim - sorriu o outro homem - mas, caso mude de ideias, volte cá às oito da noite, depois de amanhã.
Napoleão deixou a biblioteca, consciente de que estava a ser observado todo o tempo. Na rua, respirou fundo e afastou-se, com passos largos apressados. Primeiro, resolveu
não regressar àquele local, nunca mais ver nem falar com Jean Cardin. Não era sensato ser visto com aquele homem. A seguir, um arrepio de ansiedade percorreu-lhe a espinha.
E se a biblioteca já estivesse a ser vigiada? Suponha-se que ele tinha sido visto a entrar na
biblioteca, regularmente, durante as semanas recentes. Talvez já constasse algures numa lista como suspeito radical. Talvez até já o estivessem a vigiar agora.
Quando lhe ocorreu tal pensamento, sentiu uma terrível necessidade de parar ali mesmo, no meio da rua, e de olhar nervoso para trás, para verificar se estava a ser seguido.
Lutou contra essa vontade e, em vez disso, continuou a caminhar, até chegar a uma padaria. A montra estava cheia de cestos de pão e de travessas de bolos. Entrou e fingiu
estar a ver os produtos para venda, enquanto os outros clientes faziam bicha para efectuarem as respectivas compras. A cabeça estava inclinada por cima das tartes, enquanto
olhava para a rua, por debaixo do sobrolho. Uma mão-cheia de pessoas vinha da direcção de onde ele viera, e ele escrutinou-as de perto, tirando um velho de braço dado com
uma mulher a rir-se e três rapazolas correndo atrás de um aro ao longo da sarjeta. Depois, os olhos viraram-se para um homem de cara pálida, uns anos mais velho do que ele,
vestido com um casaco castanho indistinto e tricórnio negro, que usava puxado sobre a testa. O típico homem que se encontrava em qualquer rua de Paris.
Sem sequer olhar para ele, nem para a montra da padaria, o homem lá passou. Napoleão respirou de alívio. Estava a ser palerma, paranóico sem remédio, foi o que pensou. Que
interesse nas opiniões políticas de um oficial de artilharia de baixa patente poderia ter a polícia de Paris? Comprou uma empada de carne e saiu da padaria, regressando calmamente
ao hotel, através daquelas ruas estreitas.
Parou a uma curta distância da entrada desagradável do Pays Nor-mandie e verificou como estava a rua. Poucas pessoas circulavam, e não havia sinal de ninguém a segui-lo, ou
a vigiar o hotel. Napoleão sentiu alguma da tensão a abandonar o corpo e avançou para o espaço aberto; entrou no hotel e subiu ao sótão.
Na privacidade e segurança do seu pequeno quarto, a ansiedade anterior pareceu-lhe bastante irreal e riu-se de si próprio. Mesmo assim, quando saiu do hotel, nessa noite,
para ir jantar num sítio barato, não conseguiu resistir a olhar a rua de cima a baixo antes de transpor a porta.
Capítulo 42
Na manhã seguinte, Napoleão levantou-se ao alvorecer. Tinha uma audiência marcada para o meio-dia com um funcionário júnior do Tesouro e tinha de estar certo de que os pormenores
da disputa se encontravam decididamente fixados na sua mente. Puxou a sacola de couro, que se encontrava debaixo da cama, e releu a cópia do contrato que o pai anexara ao
pedido de subsídio para a plantação de amoreiras, que apresentara ao governo francês.
Napoleão tomou notas num livrinho, à medida que lia a papelada. Por fim, considerou-se satisfeito com o seu conhecimento dos factos e de como os poderia usar para apoiar a
argumentação que preparara. Meteu com cuidado todos os documentos e o livro de notas na bolsa, foi buscar água fria, lavou-se e vestiu-se com a sua melhor casaca do uniforme.
Penteou o cabelo liso, que lhe chegava aos ombros, e amarrou-o num rabo-de-cavalo, apertado com uma pequena fita; depois, colocou o chapéu na cabeça. Agradado com o reflexo
no espelho, pegou na bolsa e saiu para o Gabinete do Tesouro, localizado na Praça Merignon.
Um pequeno arco dava para um terraço sombrio. No lado oposto, uns poucos degraus conduziam ao hall da entrada principal, que estava cheia de homens à espera das horas das
reuniões marcadas com vários funcionários seniores e juniores. Napoleão identificou-se ao funcionário na pequena secretária de um dos lados da escadaria e sentou-se à espera
da sua vez. Estava quase uma hora adiantado, porque não queria perder a oportunidade de apresentar a reclamação da família, se as audiências anteriores se concluíssem antes
da hora prevista. Enquanto esperava, estudou as pessoas à sua volta, uma amostragem transversal da sociedade francesa, com todos os tipos sociais, desde o modesto lojista
até ao abastado comerciante. Bem, quase todos os tipos sociais, pensou. Não havia aristocratas. Eram demasiado importantes para terem de lidar com funcionários do Tesouro.
A barulheira era entrecortada por partes de conversas, que Napoleão conseguia discernir. Embora estivessem ali outras pessoas a reclamar, a maioria das conversas era acerca
dos últimos aumentos de impostos que o governo impusera. A má disposição geral estava próxima do ponto de fervura, e a atmosfera enevoada da sala de espera lembrou-lhe um
dia abafado de Verão, quando a tempestade está prestes a eclodir. De tantos em tantos minutos, um funcionário aparecia na galeria, no topo das escadas, e um mar de rostos
olhava para ele cheio de esperança e ouvia-o chamar um nome.
A hora marcada para a reunião chegou e passou, e Napoleão já não aguentava estar sentado naquele duro assento de pau. Agarrando a bolsa debaixo do braço, atravessou a multidão
até à entrada do edifício e encostou-se a um pilar mesmo junto da porta, onde conseguia respirar ar fresco e ouvir a chamada. O céu estava cinzento, e uma ligeira chuvada
tinha começado a cair. Na rua, para além do arco, as pessoas circulavam com as cabeças encolhidas dentro dos casacos, protegendo-se do frio e da humidade.
- Buona Parte! Monsieur Buona Parte!
Napoleão quase rodopiou. O funcionário na galeria chamava o seu nome. Furou pelo meio da multidão na direcção da escadaria e depois controlou-se a subir um degrau de cada
vez, até chegar junto dele.
- Buona Parte?
- Sim?
- Siga-me.
O funcionário conduziu-o por um estreito corredor, na outra ponta da galeria. No final do corredor, Napoleão foi conduzido a uma sala pequena, onde apenas cabiam uma secretária
e duas cadeiras. As paredes estavam cobertas de prateleiras cheias de volumes atados em resmas ordenadas. Em cima da secretária havia um processo aberto, e lendo o conteúdo,
encontrava-se um homem magro, de idade avançada, com madeixas cinzentas de cabelo na calva. Tinha colocado um par de óculos a descansar no topo da cabeça.
- Sente-se - disse, sem levantar os olhos.
Napoleão sentou-se na cadeira, abriu a bolsa e retirou os papéis.
- Silêncio, por favor. Estou a tentar concentrar-me.
Napoleão imobilizou-se e esperou que o funcionário terminasse a leitura. Por fim, o homem fechou o processo, encostou-se para trás na cadeira, puxou os óculos para o nariz
e pestanejou, fitando Napoleão.
- Monsieur Buona Parte? Tinha pensado que fosse um pouco mais velho. - Percorreu com o dedo as anotações na capa do processo. - Trabalha no tribunal de Ajaccio?
- Esse era o meu pai, Carlos - explicou Napoleão. - Morreu há uns anos. Eu sou o filho, Napoleão Buona Parte. Estou a prosseguir com a sua reclamação de indemnização.
- Veio da Córsega para tratar disto?
Napoleão assentiu.
- Bem, lamento, mas ainda não localizei todos os documentos relevantes para a sua reclamação.
Napoleão retorquiu com fúria e frustração.
- Isso não chega. Quero que mande alguém procurá-los agora.
- Não posso fazer isso. Os meus funcionários estão extremamente ocupados. Esses documentos terão de esperar até que haja um homem livre para efectuar tal tarefa.
- Quando será isso?
- Não lhe sei dizer. Pode levar semanas ou meses.
- Isso é inaceitável! Não posso esperar aqui todo esse tempo.
- A escolha é sua, Monsieur Buona Parte. Mas se não apresentar a reclamação em pessoa, não poderá culpar o Gabinete do Tesouro por não dar prioridade ao seu pedido. Sugiro
que regresse daqui a, digamos... duas semanas.
- Duas semanas? - Napoleão abriu os olhos e fixou o funcionário. - A minha família já está endividada. E a dívida cresce em cada dia,
graças ao Tesouro. Exijo que faça alguma coisa imediatamente.
O funcionário devolveu-lhe o olhar, friamente.
- Pode exigir o que quiser. Destinarei um dos meus funcionários a essa tarefa, quando houver tempo. Mas não receberei ordens de um qualquer novo-rico provinciano no meu gabinete.
E agora, Monsieur Buona Parte, se não se importa, tenho outros assuntos urgentes a tratar. Sugiro que marque nova reunião comigo para daqui a duas semanas. Talvez tenha algumas
notícias para si.
- E se não tiver?
- Se assim for, receio que tenha de esperar um pouco mais.
Napoleão levantou-se, pegou no contrato e enfiou os papéis na bolsa.
- Isto é uma vergonha! Vou apresentar queixa às chefias competentes, ao mais alto nível.
- Faça o favor. E agora, muito bom-dia para si, senhor.
Napoleão não respondeu. Virou-se e saiu da sala de rompante; depois seguiu pelo corredor fora e pelas escadas abaixo, até chegar à rua, onde a chuva caía agora com bastante
mais força e assobiava ao bater nas pedras da calçada. Dirigiu-se para o hotel, apertando a bolsa debaixo do braço, com passadas largas e uma expressão de raiva amarga a devorar-lhe
o rosto.
Um pouco atrás, uma figura afastou-se da multidão, que observava um teatro de fantoches na rua, e começou a seguir o jovem oficial de artilharia.
Capítulo 43
Quando caiu a noite, Napoleão estava mais calmo, mas a sensação de ultraje ainda o asfixiava até ao fundo da alma. Ao deixar o hotel, para ir dar o seu passeio nocturno e
encontrar um sítio para comer, descobriu que a chuva parara e que o ar tinha um toque fresco e limpo. Farrapos de nuvens prateadas ocultavam como um véu a meia-lua brilhante.
Ao seu redor, a rua molhada era iluminada pela luz baça proveniente das janelas. Pôs as mãos atrás das costas e partiu em direcção ao centro da cidade. Ficara sem apetite,
portanto, caminhou durante longas horas, passando nos belos edifícios e monumentos da capital, até que, já tarde, se encontrou no meio das gentes que se movimentavam ao longo
das colunas do Palais Royal. Era um dos locais favoritos para os jovens de Paris se encontrarem para beber e namorar e também, se estivessem para aí virados, para lutar. A
colunata sombria, que se estendia ao longo do palácio, era também a coutada de um outro passatempo mais sensual; quando Napoleão atravessou o local,
ignorou os avanços das prostitutas, sentadas nos degraus, ou encostadas aos pilares.
Estava a chegar ao fim da colunata, quando viu uma silhueta magra dobrada sobre um ornamento de pedra fria, na base de uma coluna. Era uma miúda da rua, adormecida, encostada
à pedra. A cara estava virada para cima e para o lado e a incidência do luar dava-lhe uma beleza etérea, fria e azulada que prendeu a atenção de Napoleão, tanto que ele parou
a admirá-la. Era qualquer coisa de assombroso, concluiu ele. O cabelo longo, negro e ondulado, caía em tranças por cima de uma capa cinzenta parda. Tinha lábios carnudos,
maçãs do rosto marcadas, sobrancelhas perfeitas e pestanas longas. Ao contemplá-la, sentiu um desejo inesperado no fiando do estômago, que o apanhou de surpresa. Perturbado
pela sensação espontânea, ele estava prestes a desviar o olhar e a prosseguir a caminhada, quando ela pestanejou e abriu os olhos e delicadamente passou a ponta da língua
pelos lábios para os molhar. Ao acordar de vez, reparou logo na figura magra do oficial de artilharia a olhar para ela, a pouca distância, e sorriu.
- Olá, bonitão - suspirou ela. - Procuras alguém?
- Eu? - gaguejou Napoleão. - Não, não. Só estou de passagem.
- É mesmo? - Ela riu-se, mostrando uma boa dentadura. - Pensava que as pessoas se mexiam quando passavam.
Napoleão corou, mas, após respirar fundo, recuperou a pose.
- Só tinha parado para admirar...
- A mim. Estavas a admirar-me a mim. - Ela pôs-se de pé com um salto, aproximou-se dele e apontou-lhe um dedo. - Vá lá. Admite!
Ela deu uma gargalhada, um trinar leve e agudo, que era tão contagiante que, passado um instante, Napoleão não pôde evitar juntar-se ao riso.
- Está bem, eu admito. Estava a olhar para ti.
- Eu sabia. - Ela avaliou-o intensamente. - Desejaria a minha companhia, senhor?
- Chamo-me Napoleão.
- Napoleão - assentiu ela. - E que nome gostaria de me chamar?
Napoleão ficou perplexo e depois respondeu:
- Gostaria de te chamar pelo teu nome.
Ela encolheu os ombros.
- Como queira. Anabela.
- Anabela. Prazer em conhecer-te. - Ele estendeu a mão, e ela pegou nela com um riso trocista. Ele apertou-lhe a mão com formalidade, mas ela continuou a agarrá-la depois
de o aperto de mão ter terminado e recusava-se a deixá-la ir.
- Então, para onde me vais levar, Napoleão?
- Levar-te? Mas eu nem tinha pensado...
- Tenho fome. E tu pareces precisar de companhia. Vamos procurar alguma coisa para comer primeiro.
- Não sei se tenho dinheiro para isso.
- Não faz mal. Eu conheço um sítio muito barato. - Ela deslizou a mão por debaixo do braço dele e sorriu-lhe. - Depois disso... bem, logo veremos.
Quando os primeiros raios cinzentos da madrugada se espalhavam pelo quarto, Napoleão acordou sobressaltado. Estava nu. Sentiu-o de imediato. Também sentiu outro corpo quente
enrolado no seu e o antebraço dele pousado na anca dela. No início, a chocante falta de hábito da situação assustou-o; depois, os pormenores da noite anterior vieram-lhe à
memória em catadupa. A refeição barata que ele pagara numa pequena estalagem. A leveza da conversa, o facto de ela o ter feito rir, e depois, pouco a pouco, ter explorado
as suas ambições, escutando-o com atenção ávida, ou, pelo menos, assim parecia, reflectiu. A seguir, tinham caminhado de braço dado, de volta ao hotel, com as gargalhadas
e a conversa bem-disposta a ecoarem nas ruas escuras. Depois, no quarto dele, à luz de uma única vela, tinham-se despido num silêncio confrangedor, e ele sustivera a respiração
quando vira aquela mulher nua à sua frente. Ela tremera de frio e metera-se na cama. Após uma breve hesitação, ele seguira-a e depois contraíra-se, quando ela se enrolara
à volta dele.
- É a tua primeira vez, não é? - perguntara ela, em voz baixa.
- Não.
- Se tu o dizes. Então, grande amante, vamos ver do que és feito...
Sorriu com a memória da relação sexual: meigo e nervoso, primeiro,
antes de ceder à excitação do prazer animal, que lhe percorreu o corpo até à extática explosão de espasmos de energia do clímax, e a doce descontracção e brilho do oblívio,
depois. A seguir, o sono; dormira enrolado nela, com a cabeça a descansar na carne macia e doce entre o pescoço e o peito.
Ela mexeu-se, abriu a boca e bocejou. Depois, molhou os lábios secos com a ponta da língua, e os olhos pestanejaram e abriram-se.
- Tenho fome. Tens aí comida?
- Tenho pão, além. - Napoleão indicou a única mesa do quarto, por debaixo da janela. Lá fora, a manhã começava clara e límpida, e uma pálida coluna de luz atravessava a mesa,
iluminando a caixa de madeira onde ele guardava a comida, para a proteger das ratazanas. - Também há por aí um bolo. Eu vou buscá-los.
- Vou eu.
Deslizou da cama para fora e pisou o chão em silêncio até à mesa,
com Napoleão a não tirar os olhos dela. Primeiro comeu o bolo, com apetite. Depois, acabou o pão e, a seguir, pegou nas roupas, que estavam nas costas da cadeira.
- Aonde vais? - Napoleão ergueu-se na cama, apoiado no cotovelo.
- Para casa. Tenho de ir. O meu homem fica preocupado se não volto logo de manhãzinha.
- Tu és casada?
- É como se fosse - respondeu, endireitando a sua combinação muito usada. - Vamos receber a bênção daqui a umas semanas.
Napoleão estava horrorizado.
- E ele sabe... sabe disto?
- Claro que sim.
- E não se opõe? - Napoleão desviou o olhar dela. - Eu opor-me-ia, se tu fosses minha.
Ela parou e sorriu-lhe.
- Deus o abençoe, senhor tenente. Isso foi uma coisa bonita de se ouvir. Mas para si é fácil. O meu homem era um tecelão de seda e esse ofício está perdido. Ele ficou sem
emprego, há mais de um ano, e tivemos de vir para Paris, para tentar encontrar trabalho. Aqui não há muitos empregos, portanto, um de nós teve de ir ganhar dinheiro... - encolheu
os ombros
- e aqui estou eu.
- De onde és tu?
- De Lyons.
- Compreendo. - Napoleão mexeu-se, pouco à vontade, e puxou os cobertores para cima dele, como se com isso se sentisse mais seguro. - Não há mais nada que possas fazer?
- O quê? - perguntou ela, com um gesto de desespero. - Não tenho habilitações, para além de saber agradar aos homens, e nós precisamos de roupas e abrigo, e isso já era antes
destes aumentos de impostos. Mal sobrevivemos, mesmo assim. Mas não estou à espera que perceba...
Napoleão fez menção de protestar. No fim de contas, ele só estava em Paris porque a família enfrentava a ruína, a menos que o governo pudesse ser persuadido a honrar o acordo
original. Mas as dificuldades enfrentadas pela família Buona Parte estavam a milhas da luta diária pela sobrevivência que aquela rapariga e o seu homem enfrentavam.
Ela acabara de apertar os botões do seu vestido muito simples e colocou um xaile grosso, que trouxera sobre os ombros na noite anterior, por cima da cabeça, amarrando-o à
roda do pescoço. Calçou as botas e apertou os atacadores e depois veio até à beira da cama.
- Senhor tenente, tem de me pagar agora.
- Pagar-te? - Napoleão corou. - Claro, com certeza. Desculpa.
Levantou-se da cama, enrolado num cobertor, e foi até onde estava a casaca, estendida em cima da arca de viagem. Mexeu no bolso até encontrar a bolsa das moedas. Retirou-a,
abriu o fecho e olhou para as moedas lá dentro.
- Quanto?
- Cinco francos, senhor. Mas, qualquer coisa mais será bem-vinda.
Ele assentiu e contou cinco francos; parou por um instante e contou
mais cinco e, depois, foi até junto dela e colocou-lhe as moedas na mão que ela lhe estendia.
- Anabela, sai desta cidade. Volta para Lyons. Vai para o campo. Sai de Paris. Encontra um lugar para viveres com o teu homem e desiste desta vida.
Ela aparentou ter ficado magoada.
- Pensava que nos tínhamos divertido.
- E divertimo-nos. Eu diverti-me. Foi a melhor noite que alguma vez tive. - Ele fez por lhe agarrar na mão, e o cobertor caiu, revelando o seu corpo nu e o pénis a ganhar
vida de novo. - Aí tens a prova da minha sinceridade!
Riram-se os dois ao mesmo tempo e, depois de terem recuperado das gargalhadas, ela inclinou-se e deu-lhe um beijo na boca.
- Adeus, senhor tenente. Que tudo lhe corra bem. Talvez um dia ambos tenhamos casas sossegadas no campo.
- Talvez - assentiu Napoleão. - Adeus!
Ela saiu do quarto, fechou a porta, e ele ouviu os passos cuidadosos a atravessarem o patamar e a descerem as escadas. Ele voltou para a cama e enroscou-se debaixo dos cobertores,
até que o corpo aqueceu de novo. O cheiro dela ainda estava na almofada, e ele fechou os olhos e aspirou o perfume pelo nariz, deixando a mente vaguear de regresso às maravilhas
da noite anterior.
Capítulo 44
Napoleão levantou-se, por fim, quando o sino batia as onze horas. Sentou-se à mesa e escreveu uma carta ao ministro da Guerra, Jean-Baptiste de Gribeauval, explicando que
estava a ser obstruído pelo Gabinete do Tesouro no processo de indemnização da família e que precisava, portanto, de pedir uma extensão da sua licença por mais seis meses.
Acalentava poucas ilusões de que o ministro da Guerra ficasse satisfeito por conceder a um oficial tão jovem ainda mais tempo de licença. Afinal, ele não tinha estado com
o regimento durante mais de um ano. Porém, esta diligência era tudo o que Napoleão podia fazer naquele momento. De qualquer forma, o seu dinhei-
ro não duraria muito mais tempo, e ele seria obrigado a regressar à Córsega. Não estava entusiasmado com a perspectiva de ter de informar a família acerca do seu falhanço
em Paris. Mas estava furioso com a corrupção e a ineficácia do governo, sobretudo por causa das gritantes desigualdades entre a pobreza esmagadora das massas e o luxo estouvado
dos aristocratas e seus congéneres. Algo tinha de mudar. Mas que hipótese de mudança poderia haver, quando o exército estava pronto para esmagar qualquer expressão de descontentamento
da parte do desesperado e espezinhado povo da França? Que se poderia fazer contra isso?
Logo que terminou o esboço da carta, Napoleão copiou-a para uma forma mais legível e selou-a. Colocou-a no bolso da casaca, e dirigiu-se ao edifício do Ministério da Guerra,
onde a entregou a um funcionário, com a indicação do endereço da sua residência em Paris, para onde a resposta devia ser enviada. Depois, partiu de novo. Caminhou pelas ruas,
mergulhado profundamente nos seus pensamentos acerca do estado do mundo que o rodeava, quase não reparando no belo tempo que abraçara Paris, e que injectara na maior parte
dos seus habitantes uma disposição mais agradável, depois do frio e da humidade das semanas anteriores. Quando emergiu da sua abstracção, reparou que estava na rua da biblioteca
de Monsieur Cardin. Parou de repente e olhou em volta, mas não reconheceu ninguém perto dele e retomou a sua caminhada, andando mais depressa.
Quando entrou numa estalagem barata para jantar, o pensamento regressou ao panfleto que lera dois dias antes. Os argumentos apresentados afluíram-lhe à mente com a força irresistível
do caudal de um grande rio. O autor, o cidadão Schiller, posicionava a lógica como se fosse uma arma e abatia a tiro tudo o que se encontrava no seu raio de alcance, fosse
a monarquia, a Igreja ou a aristocracia. Devia ser um homem interessante de se conhecer, reflectiu. E naquela noite falava na loja de Monsieur Cardin. Não pensou nisso mais
do que um instante e decidiu de imediato.
Quando um dos relógios da cidade batia as oito horas, Napoleão emergiu das sombras do lado oposto à biblioteca e atravessou a rua depressa, deitando um derradeiro olhar ansioso
em redor, para se assegurar de que não estava a ser observado. A biblioteca estava quase às escuras; apenas uma pequena chama de luz brilhava no interior, lá ao fundo. Porém,
já havia homens lá dentro. Do outro lado da rua, tinha-os visto chegar, sós ou em pequenos grupos. Napoleão estendeu a mão para pegar na maçaneta da porta, mas alguém já tinha
estado obviamente a vigiá-lo, porque a porta se abriu quando ele se aproximou.
- Para dentro! Depressa! - sussurrou Monsieur Cardin.
A porta fechou-se atrás dele, e Napoleão conseguiu vislumbrar uma vela pequena a tremelicar em cima-da-secretária do dono, no fundo da loja.
Mas não havia sinais dos homens que tinham entrado antes dele.
- Por aqui, senhor tenente. - A mão empurrou-o com gentileza, na direcção da vela. - Tinha esperanças que viesse.
- Apenas vim para ouvir - respondeu Napoleão. - Estou interessado em ideias novas. É tudo. Não farei parte de uma conspiração.
- Claro que não. Por quem nos toma? Somos apenas um pequeno grupo de livres pensadores. Qualquer sociedade civilizada tolerar-nos-ia. Mas, infelizmente, não vivemos aqui tempos
civilizados. Daí termos de debater em privado. Por aqui, senhor tenente. Lá para cima.
A sombra do braço indicou-lhe os primeiros degraus que levavam à alcova, por detrás da secretária.
- Aonde é que isto vai dar? - perguntou Napoleão desconfiado.
- Ao meu escritório e armazém. Três das paredes são comuns com a empresa de costura. Só tem uma janela, e está tapada; portanto, estaremos em total privacidade.
Napoleão assentiu e subiu os degraus estreitos. A escada era em caracol, e depois havia uma porta fechada, sob a qual se via uma linha de luz vinda da sala, do outro lado.
A porta abriu-se, iluminando a escada, e um homem recebeu-o com uma inclinação de cabeça. Napoleão entrou na sala. Era como Monsieur Cardin a descrevera, um armazém puro e
simples. Mas era muito grande, parecendo corresponder à área exacta da biblioteca situada directamente por baixo. Pilhas de livros estavam alinhadas junto às paredes. Num
canto havia uma pequena prensa, e resmas de folhas cortadas estavam prontas a dar entrada na máquina. No centro, estavam duas mesas longas, encostadas uma à outra, com lugares
dispostos em redor. Quase todos estavam ocupados por homens bem vestidos, que Napoleão assumiu serem banqueiros, advogados e afins.
- Bem-vindo, senhor tenente - disse o homem que lhe abrira a porta.
Napoleão virou-se para ele.
- Conheço a sua cara. Deve ter-me seguido, quando saí daqui há dois dias.
- Sim - sorriu o homem. - Tenho estado a vigiá-lo de perto, desde então. Tínhamos de ter a certeza de que não era um informador. Não era muito plausível que um agente do rei
fosse tão tolinho que envergasse um uniforme. Mas tínhamos de ter garantias. - Estendeu-lhe a mão. - Permita-me que me apresente. Sou Augustin Duman. Por favor, sente-se.
A reunião está prestes a começar.
Napoleão sentou-se perto da porta. Não podia confiar em homens que se davam a tanto trabalho para se encontrarem em segredo e queria uma via de saída rápida, caso houvesse
necessidade de fugir.
Monsieur Cardin sentou-se ao lado dele, e Duman sentou-se no outro
lado. À cabeça da mesa, iluminado pelos candelabros espalhados ao longo das duas mesas, estava sentado um homem com feições parecidas com as de Duman. Tinha uma peruca empoeirada
e uma expressão severa e inteligente. Fechou o punho e deu um murro na mesa.
- Dou por iniciada a reunião.
Os outros homens calaram-se de imediato e viraram-se para o topo da mesa. O homem de peruca anuiu.
- Muito obrigado, cidadãos.
Fez uma pausa e olhou para Napoleão.
- E é este o nosso novo homem, o tenente de artilharia?
Monsieur Cardin pigarreou e inclinou-se um pouco, para ver melhor
o homem sentado ao fundo.
- Cidadão Schiller, o tenente está aqui para ouvir e observar. Não tem compromisso nenhum connosco.
- Por enquanto - sorriu Schiller. - Mas eu espero que a força da nossa argumentação o convença ajuntar-se a nós em breve.
Napoleão nada disse e manteve-se imóvel.
- Sei que leu o meu panfleto.
- Sim, senhor.
Schiller sorriu de novo.
- Aqui todos nos tratamos por cidadãos. Lá fora, nas ruas, ainda somos súbditos e temos de nos sujeitar à hierarquia. Mas, aqui, encontramo-nos como iguais. Portanto, é apenas
"cidadão Schiller."
- Só estava a ser bem-educado- retorquiu Napoleão.
- Pareceu-me deferência. Não haverá deferência na nova França, cidadão Buona Parte. Não será tolerada. Não o poderemos fazer, ou seremos arrastados de volta ao passado. De
volta ao governo de muitos, exercido por poucos. Faço-me entender?
- Está entendido, cidadão - assentiu Napoleão. - Mas certamente que há diferenças entre os homens, diferenças mensuráveis. É essa a ordem natural das coisas.
- Concordo. Mas isso justifica as enormes desigualdades entre homens e mulheres, por exemplo? Se removermos Deus da equação por um momento, foi o Homem que criou a sociedade
da maneira como existe. Pode, portanto, fazê-lo de outra forma, de uma maneira melhor. Pelo menos, com isto concordará?
Napoleão anuiu. Era uma opinião correcta. Mas até que ponto o povo francês poderia ser persuadido, com facilidade, a remover Deus da equação, isso era menos discernível. Um
assunto mais pragmático ocorreu-lhe.
- Suponhamos que a velha ordem entra em colapso. O que irá substituí-la?
Agostinho Duman chegou-se à frente e interveio.
- A democracia.
- Democracia? E como se manifestará essa democracia, exactamente?
- Como o povo quiser - continuou Duman, de voz enlevada pelo idealismo. - A nova ordem surgirá dos seus desejos e deliberações. Uma ordem que será tida e permanecerá como
um exemplo brilhante para os oprimidos de outros países.
- Compreendo. - Napoleão manteve o tom neutral. - O povo comum será racional e decidirá qual a melhor forma de governo.
- Exacto.
Napoleão sorriu.
- Não querendo ser indelicado, mas já alguma vez estiveram no meio do povo comum? É que eu tenho as minhas dúvidas acerca do vosso entendimento do que ele é de facto.
Duman abriu a mão sobre o peito.
- São pessoas, como nós.
- Cidadão Duman, não são como nós. São uma horda ignorante a precisar de liderança. Existem grandes cérebros neste mundo que se devem responsabilizar pelo bom governo. Um
governo iluminado. Homens como os que rodeiam esta mesa. Parece-me ser um homem educado, cidadão.
Duman afastou-se um pouco, enquanto fitava Napoleão.
- Sou advogado.
Schiller deu vários murros na mesa.
- Agostinho! Cidadão Duman! Chega! O tenente não prestou juramento. Não lhe vai fornecer nenhum pormenor confidencial acerca dos membros da nossa sociedade. Isso inclui as
profissões.
Napoleão pressentiu que também ele era advogado e, ao observar de novo Schiller e Duman, ficou apreensivo com as semelhanças na aparência e no comportamento de ambos.
Schiller focou os olhos em Napoleão, mais uma vez.
- O cidadão Buona Parte tem razão.
Os outros homens mexeram-se nas cadeiras, e um deles começou a falar, mas Schiller ergueu a mão para que se calasse.
- Tem razão, até um certo ponto. O povo precisará de liderança nos primeiros anos da ordem nova. Até que esteja bem politizado e educado, não tem possibilidade de discernir
o que é do seu melhor interesse. Estará vulnerável à retórica dos cínicos e interesseiros. Competirá a homens como nós guiá-lo durante este período perigoso e difícil.
- Perigoso? - inquiriu Napoleão. - De que maneira?
- Qualquer mudança na sociedade da magnitude da que propomos
não será pacífica. Temos de calcular que o velho regime lutará para conservar o seu poder e privilégios. Sangue será derramado. Esse é o preço que tem de ser pago; uma realidade
dura, mas necessária, que tem de ser enfrentada. Concorda comigo, cidadão Buona Parte?
Parecia uma premissa bastante realista.
- Se houver violência, a questão que me preocupa é se tamanha perda de vidas justificará os fins? - perguntou Napoleão.
- Isso é assunto para filósofos, cidadão Buona Parte. Nós ocupamo-nos da pragmática. Quem se lembrará dos mortos, cinquenta anos após o estabelecimento da nova ordem? Essas
mortes tornarão possível a prosperidade infinita, geração atrás de geração. As muitas misérias da nossa época morrerão com elas. Não será um sacrifício que valha a pena?
- Acho que isso é uma pergunta para responder o povo chamado a fazer o sacrifício - respondeu Napoleão. - Quanto a mim, sou um soldado, não sou um civil. A morte é uma inevitabilidade
na minha profissão. De um soldado espera-se sempre sacrifícios.
Schiller apontou-lhe um dedo.
- Por isso deve estar preparado, quando chegar a hora. Precisaremos de homens como você, preparados para matar e para morrer na persecução dos nossos objectivos. Claro que
a escolha do lado onde lutará será sua. Velho regime ou nova ordem. Não me parece que seja um zangão sem miolos, cidadão. É um pensador, tanto quanto um filósofo, e logo que
tiver em consideração o que eu afirmei, só terá uma decisão lógica a tomar.
Napoleão abanou a cabeça e ergueu-se da cadeira.
- Lamento, cidadão Schiller, mas é escolha que não posso fazer. Agora, tenho de ir, antes que ouça mais alguma coisa que o ponha ainda mais em risco.
Duman levantou-se lentamente e afastou-se para a esquerda, e Napoleão apercebeu-se, de repente, de que talvez tivesse ido longe de mais. Esta não era uma reunião que se pudesse
abandonar sem ter aderido à causa. Olhou para Duman e depois para Schiller, mais uma vez.
- Têm a minha palavra de que nada direi acerca desta noite. O governo não é da minha simpatia, como saberão. Mas não posso fazer a escolha que me exigem. Tenho de me ir embora.
Schiller fitou-o pasmado, por instantes. A atmosfera na sala estava tensa, e Napoleão sentiu medo. Ele deveria ter calculado. Deveria ter abandonado a biblioteca e nunca deveria
ter regressado. Era demasiado tarde para isso agora. A sua vida estava nas mãos do homem à cabeceira da mesa. Schiller apertou os lábios e falou de novo.
- Muito bem. Pode ir. Eu confio em si.
Napoleão dirigiu-se à porta, observado com atenção por todos os
presentes. Quando estendia a mão para agarrar na maçaneta, ficou à espera de levar um tiro de pistola ou de uma faca lhe ser espetada na espinha. Mas tal não aconteceu, e
ele deu o primeiro passo na direcção das escadas.
- Tenente Buona Parte! - gritou-lhe Schiller. - Uma última coisa: velho regime ou nova ordem. Terá de fazer essa escolha, mais cedo do que pensa.
Napoleão acenou com a cabeça e virou-se para começar a descer as escadas, não se atrevendo a virar-se quando ouviu os passos de Duman atrás de si. Depois, a porta fechou-se,
deixando a escada estreita na escuridão.
Quando regressou ao Pays Normandie, estava uma carta debaixo da porta. Por um segundo, pensou que poderia ser de Anabela, e à mente vieram-lhe imagens dela a abandonar o seu
homem para vir ter com ele. Depois, quando empurrou a porta, viu tratar-se de uma mensagem oficial. O seu nome estava escrito numa caligrafia redonda e equilibrada, e o selo
no verso ostentava o brasão do ministro da Guerra. Napoleão fechou a porta, despiu a casaca, tirou o chapéu e sentou-se à mesa. A luz do céu nocturno, filtrada pela janela,
dava para ver onde estava a vela e a caixa das acendalhas. Acendeu a vela e sentou-se. Quebrou o lacre e abriu a carta. Era uma curta nota formal, escrita por um funcionário
do ministro da Guerra:
O ministro da Guerra acusa a recepção da vossa carta requerendo uma nova prorrogação de licença. O senhor ministro é de opinião que a vossa presença em Paris é prova da vossa
recuperação total de saúde e da vossa aptidão para continuar ao serviço do exército de Sua Muito Católica Majestade. Assim, o pedido é recusado. Mais se determina que regresseis
ao regimento em data o mais próxima possível, nunca depois do início de Março. O incumprimento desta ordem implicará que é vosso desejo cessar a observância da comissão atribuída
pelo rei, e sereis desde logo afastado do seu serviço.
Um vosso servo obediente,
J. Corbouton, secretário do ministro.
- Merda... - murmurou Napoleão, ao pôr a carta em cima da mesa. Não haveria hipótese de prosseguir com o processo de indemnização, dali para a frente. Logo que regressasse
ao serviço, certamente que o exército não lhe concederia uma nova licença durante anos. E, assim sendo, a sua família na Córsega enfrentaria a perspectiva de ruína certa.
Capítulo 45
Irlanda, 1788
Uma queda de neve na noite anterior tinha dado a Dublin uma aparência limpa e fresca, como se houvesse mantas grossas brancas penduradas nos telhados inclinados da capital.
Quase todas as casas tinham lareiras acesas, e o fumo de milhares de chaminés erguia-se em colunas no nevoeiro acastanhado que cobria a cidade. Arthur puxou a gola do sobretudo
para cima, enquanto seguia pela Eustace Street, em direcção ao castelo. Tinha alugado um quarto na casa de um sapateiro, em Ormonde Quay, a dez minutos a pé do portão de Cork
Hill. Era ainda bastante cedo, e poucas pessoas circulavam na rua. A neve ainda não tinha estalado, nem tinha sido suavemente pisada, sob os seus pés.
Era em meados de Fevereiro, e ele estava em Dublin há mais de dez dias, tendo passado os primeiros com velhos amigos da família, enquanto procurava um quarto confortável e
acessível para viver por sua conta. Envergava o seu melhor uniforme e chapéu, para tentar dar aquilo que ele esperava ser uma boa impressão. Arthur tinha consciência de que
a sua figura alta, os caracóis castanhos-claros e os modos elegantes seriam o complemento perfeito para o impecável uniforme.
Quando se aproximou do portão do castelo, em Cork Hill, uma sentinela foi ter com ele e fez-lhe continência.
- Bom-dia, senhor. Que assunto o traz a este local?
- Venho apresentar-me ao serviço no posto de ajudante-de-campo.
- O seu nome, senhor?
- Tenente Arthur Wesley.
- Muito bem, senhor. Queira seguir-me.
A sentinela virou-se e marchou pelo portão dentro, fazendo com que Arthur se tivesse de apressar para a acompanhar. Atravessaram o grande pátio e viraram imediatamente para
a entrada da torre de Bedford. A sentinela segurou na porta, enquanto ele entrava, e depois regressou ao portão, sempre a marchar. Um sargento levantou-se por trás de uma
secretária.
- Em que posso ajudá-lo, senhor?
- Tenho uma marcação para falar com o capitão Wilmott, às oito e
meia.
- O capitão não está aqui, senhor. Vou conduzi-lo ao gabinete dele. Pode esperar lá por ele, senhor.
Arthur seguiu o sargento pelas escadas acima e através de uma porta por um longo corredor iluminado por uma série de clarabóias. Havia
gabinetes de ambos os lados, e muitos exibiam nas portas indicações de que pertenciam a outros ajudantes; porém, só uma pequena parte estava ocupada.
- Pensava que a Corte tinha regressado ao castelo na tarde de ontem.
- Correcto, senhor - anuiu o sargento. - Mas a vice-rainha deu uma festa ontem à noite, que se prolongou até altas horas da madrugada. A maior parte dos jovens deve estar
ainda a dormir.
- Incluindo o capitão Wilmott?
O sargento encolheu os ombros.
- Imagino que sim, senhor. O capitão aprecia o seu copito de Tokay. Aqui estamos, senhor. - O sargento indicou-lhe uma fila de cadeiras, junto à parede, no fundo do corredor.
- Pode sentar-se aqui, senhor. O gabinete do capitão é aquele ali em frente.
Arthur inclinou a cabeça, em sinal de agradecimento, e o sargento afastou-se pelo corredor fora, na direcção das escadas. Arthur desabotoou o sobretudo e despiu-o, antes de
se sentar. Depois, colocou o sobretudo na cadeira ao lado. Pela porta aberta do gabinete do capitão conseguia ver a janela lá dentro e, através dela, a bela vista do outro
lado do pátio: os aposentos da Coroa. Durante os primeiros dez minutos ficou sentado, esperando pacientemente; depois, cruzou as pernas e esperou outros dez.
Depois de ter passado meia hora, e não havendo ainda sinais do capitão Wilmott, Arthur levantou-se e caminhou pelo corredor até encontrar um gabinete ocupado. A sala era espaçosa
e tinha tecto alto. As janelas grandes davam para os telhados de Dublin, sobre a zona de Liffey. Havia duas secretárias, e um oficial, envergando uma túnica vermelha, estava
sentado atrás de uma delas. Arthur bateu de leve na ombreira da porta. O oficial levantou os olhos do livro que tinha aberto sobre a secretária. Nada mais havia sobre ela,
e, olhando em redor, Arthur reparou que, tirando a mobília, poucos sinais existiam de papéis ou livros de registos que indicassem uma sala de trabalho.
- Em que posso ajudá-lo? - perguntou o oficial, um tenente como Arthur.
- Eu tinha hora marcada com o capitão Wilmott. Há mais de meia hora. Por acaso sabe por onde anda ele?
- Quem é você?
- Arthur Wesley, acabado de ser nomeado para ajudante-de-campo.
- Ah, outro recruta para o Esquadrão dos Desajeitados.
- Como disse?
- O Esquadrão dos Desajeitados. É como a vice-rainha nos chama, aos ajudantes, quero eu dizer. Desculpe, estou a ser mal-educado. E coisa da
ressaca de ontem. - Levantou-se e estendeu a mão a Arthur. - Chamo-me BuckWhaley.
- Buck?
- É o que me chamam aqui - sorriu. - O meu verdadeiro nome é feio de mais para ser repetido. Como tem passado?
- Bem, obrigado. Bastante melhor do que a maior parte dos oficiais daqui, parece-me.
- Já lhe falaram da noite de ontem, então. - Whaley deu uma gargalhada estridente, depois contraiu-se e deu uma palmada na testa. - Raios!
- Isto é o costume por aqui? - perguntou Arthur.
- Nem imagina. Pode crer, Arthur. Este local é bem mais perigoso do que estar no serviço activo. Se não for a bebida a apanhar-nos, são os credores. No ano passado, perdemos
dois ajudantes.
- Em acidentes? - atreveu-se Arthur.
- Não. Beberam até morrer. Mas perdemos quatro ajudantes em acidentes.
-Oh...
O som de gritos ecoou no corredor, e Whaley apontou com a cabeça naquela direcção.
- Aí está o capitão. Deve estar com a telha, portanto, tenha atenção, Wesley.
- Certo. Vemo-nos mais tarde.
Arthur apressou-se a regressar à sua cadeira no corredor e a sentar-se.
Um homem irrompeu pela porta ao fundo do corredor, aos berros, por cima do ombro, para quem o seguia.
- Não quero saber onde está, sargento! Arranje-se! Quero o meu café, a escaldar, em cima da minha mesa, daqui a dez minutos. Se não estiver, despromovo esse seu canastro a
soldado raso e mando-o acarretar merda nos estábulos antes do fim do dia. Ouviu?
A resmungar, prosseguiu no corredor, na direcção de Wesley. Tinha a casaca meio aberta e praguejava, enquanto procurava abotoá-la, à medida que ia andando. Não era tarefa
fácil, dado que o capitão Wilmott era extremamente gordo, e o cós dos calções ficava preso entre as massas de gordura, e estas forçavam os botões acima e abaixo daquilo que
antes teria sido uma cintura normal. Dirigiu-se ao gabinete e olhou para Wesley, quando este se levantou e lhe fez continência. Wilmott avançou porta dentro. Houve um curto
silêncio, seguido de outra praga, e depois a cabeça espreitou à porta.
- E quem diacho é você?
- Tenente Arthur Wesley.
- Não é o novo ajudante-de-campo?
- Sou sim, senhor.
- Está adiantado à brava, homem. Ainda não o posso receber.
Arthur procurou compor-se.
- Sim, senhor. Gosto de chegar a horas.
- Chegar a horas? Chegar a horas é na hora marcada, Wesley. Não uma data de horas antes.
- Horas, senhor?
- Horas, ou perto disso. De qualquer forma, você está aqui. Mais vale falar consigo já. Venha, Wesley. Entre. Eu sou um homem muito ocupado. Tenho de ir ao alfaiate não tarda
nada.
Ele tornou a meter-se para dentro, e Arthur pegou no sobretudo e entrou no gabinete. O capitão indicou-lhe uma cadeira, em frente da secretária.
- Sente-se ali.
Arthur sentou-se, e o capitão continuou a lutar contra os seus botões e a ficar cada vez mais desesperado e irritado, o que fez com que a sua cara sardenta ficasse muito corada.
Lá conseguiu o que queria e deixou-se cair pesadamente na cadeira, no outro lado da secretária. Estendeu a mão.
- Os seus papéis. Vamos lá ver isso.
Arthur deu-lhe os papéis e recostou-se na cadeira, enquanto o capitão lia os documentos e depois os atirava para cima da secretária.
- Parece que está tudo em ordem. Vou mandar o sargento preparar um gabinete para si. Já tem alojamento adequado?
- Sim, senhor, em Ormonde Quay.
- Óptimo. Isso é óptimo. Bem, não vou empatá-lo mais.
- Senhor?
O capitão Wilmott fitou-o com o mesmo olhar com que olharia para o idiota da aldeia e apontou para a porta.
- Vá.
- Senhor, eu marquei uma reunião consigo para me inteirar dos meus deveres como ajudante-de-campo.
- Deveres? - O capitão riu-se. - Aqui não há deveres, senhor. Nada que se pareça com isso. Pode ser chamado para ir tratar de algum assunto do vice-rei ou da vice-rainha,
de vez em quando. Para além disso, o seu único dever imperioso é juntar-se aos outros nos bailes, durante o Inverno, e nos piqueniques, quando chegar o Verão, se é que isso
alguma vez ocorrerá nesta ilha das trevas. Já tinha estado na Irlanda, Wesley?
- Sim, senhor - respondeu Arthur em voz baixa. - Nasci aqui. A minha família tem uma propriedade em Meath.
- Ah, sim? - O capitão respondeu como se tivesse ouvido a notícia mais aborrecida dos últimos anos. - Bem, então saberá que a Irlanda é uma pilha húmida de turfa.
Arthur encolheu os ombros.
- Se o senhor o diz.
- Digo-o, e é. E agora, onde raio está o meu café?
Como se estivesse a responder a uma deixa, o som de passos rápidos ressoou pelo corredor fora. No minuto seguinte, o sargento entrava no gabinete, transportando um tabuleiro
com um bule, uma chávena e um pires em cima.
- Já não era sem tempo! - resmungou o capitão.
O sargento, com o peito a arfar, olhou de soslaio para o outro oficial.
- Quer que lhe traga outra chávena, senhor?
- O quê? Não, não quero. O tenente está de saída.
Capítulo 46
Arthur depressa descobriu que as coisas eram como o capitão Wilmott tinha dito. Não havia verdadeiros deveres no castelo para os ajudantes. Havia bastantes tarefas menores,
no entanto; tais como, entregas em mão de convites finamente gravados às melhores famílias de Dublin, ou a supervisão da ordem em que era permitido às carruagens entrarem
no castelo, dado que a hierarquia social era ali muito mais rigidamente implementada do que em Inglaterra. Talvez o aspecto mais oneroso do posto fosse ter de estar presente
em todos os eventos sociais organizados pela vice-rainha, desde tardes calmas, mas intensas, a jogar whist, até bailes barulhentos, onde a banda alemã residente tocava alto
e bom som até horas tardias. Lady Buckingham gostava imenso de estar rodeada pelo grupo de jovens oficiais em comissão no gabinete do marido. Nos bailes, Arthur e os outros
eram obrigados a estar à disposição dela durante as primeiras horas, após as quais eram usados como pares de dança de todas as jovens presentes e das menos jovens convidadas
também. Com o passar das semanas, Arthur começou a sentir que era pouco mais do que um aprazível acompanhante masculino.
Fora destas obrigações, o tempo dos ajudantes era da responsabilidade dos próprios e, como jovens que eram, afogavam-se numa orgia de bebida, jogo, duelos e prostitutas. Este
último era um prazer que Arthur tinha descoberto enquanto membro da messe dos oficiais, em Chelsea.
Durante os últimos cem anos, Dublin tinha-se expandido a uma velocidade espantosa, numa rápida ocupação dos arredores, mesmo com os bairros pobres superlotados. Com o estabelecimento
do parlamento irlandês em Dublin, a cidade tornara-se atraente para todos os que procuravam favores políticos e sinecuras, cuja atribuição era prerrogativa dos poderes do
vice-rei. Também tinha atraído multidões de advogados, médicos, construtores e donos de bordéis, bem como todos os tipos de profissões que
farejassem o dinheiro como os cães farejam a raposa. Não havia prazer, luxo ou vício que não pudesse ser comprado algures na cidade, se se tivesse os conhecimentos certos.
Os oficiais em serviço no castelo de Dublin estavam bem posicionados nesse contexto, e, numa questão de semanas, Arthur estava familiarizado com os melhores clubes e bordéis.
O problema para Arthur é que estas vivências tinham um preço que excedia em muito o modesto ordenado de tenente de infantaria. A reserva que ele tinha amealhado, proveniente
dos presentes monetários que membros da família lhe tinham oferecido, antes de partir para a Irlanda, depressa foi devorada.
Foi nessa altura que descobriu o seu verdadeiro ponto fraco. Com a chegada da Primavera, a temporada das corridas de cavalos teve início, e os excelentes, galantes e brincalhões,
como os oficiais gostavam de se auto-apelidar, desceram ao hipódromo para observar os cavalos, apreciar as mulheres e apostar.
Um dia, no início de Maio, Arthur dividiu uma carruagem com Buck Whaley e outros dois ajudantes, Piers Henderson e jack "Dançarino" Courtney. O Sol, uma vez sem exemplo, brilhava
num céu azul límpido, e o bom tempo parecia ter tornado mais bem-dispostas as pessoas que se juntavam e circulavam ao longo da pista de corridas. Os oficiais desceram da carruagem
e, empunhando os bastões, forçaram a sua passagem através da multidão até à entrada principal. O ar estava cheio dos pregões dos vendedores ambulantes e dos angariadores de
apostas, que se esforçavam para serem ouvidos acima do barulho próprio da excitação da assistência.
Whaley empurrou gentilmente Arthur para um dos angariadores de apostas:
- Aquele é o O'Hara. É o nosso homem. Dá boas probabilidades e paga ganhos com prontidão. Tenho um excelente palpite para a primeira corrida. Vem daí.
Foram empurrando pessoas na direcção de O'Hara, um homem alto, de ombros largos, com a constituição física de um lutador de boxe e as cicatrizes para o provarem. Estava em
pé, e a seu lado tinha um miúdo de rua, agachado, debruçado sobre um livro, a anotar as apostas, à medida que iam sendo recebidas, e a passar recibos aos apostadores.
- Eh! - chamou Whaley. - O'Hara!
O irlandês virou-se e viu de imediato o oficial inglês.
- Ora, que é o senhor Whaley! E que posso fazer por si neste belo dia, senhor?
- Que probabilidades me dá no Charlemagne?
- Charlemagne7. - O'Hara fechou os olhos, por um momento, e moveu os lábios, em silêncio. Depois, os olhos abriram-se novamente. - Nove para um. Mas, por ser para si, senhor,
doze para um.
- Aceito! Aposto cinco guinéus. - Whaley virou-se e apontou com a cabeça para Arthur. - O meu amigo vai apostar o mesmo!
O'Hara olhou para Arthur com um olhar astuto e calculista.
- Não conheço este cavalheiro, senhor. Não fomos ainda apresentados.
- As minhas desculpas. Este é o distinto senhor Arthur Wesley, acabado de chegar do castelo de Dublin.
O'Hara fez uma vénia com a cabeça.
- Caro senhor. - Depois deu um toque com a bota ao rapaz. - Liam, filho, anotaste o nome do senhor?
- 'Tá, e marquei cinco guinéus, 'tá marcado.
- Lindo menino. - Fez uma festa, despenteando o cabelo do miúdo, e depois fez nova vénia aos oficiais. - Divirtam-se na corrida, senhores.
Whaley acenou um adeus e puxou Arthur em direcção às bancadas. Arthur afastou-lhe a mão do braço.
- Porque fizeste isso, Whaley?
- Fiz o quê, Arthur? - Whaley franziu o sobrolho. - De que estás tu a falar?
- Obrigaste-me a fazer aquela aposta de cinco guinéus. Isso é praticamente todo o dinheiro que tenho neste momento. Se o Charlemagne perder, não terei dinheiro para pagar
a renda no fim da semana.
- Nem eu - riu-se Whaley. - Se perdermos, teremos de fazer o que fazem todos os outros jovens oficiais: pedir dinheiro emprestado. Mas como pode um cavalo com um nome daqueles
perder?
- Oh, isso é muito científico, Buck, mas não me parece que te tenhas incomodado em saber se está em boa forma.
- E porque faria eu isso? A fonte do meu palpite é inatacável. Anda lá, Arthur, ou vamos chegar tarde para arranjarmos um bom lugar de onde assistir à corrida.
Com um grande suspiro de frustração pela irresponsabilidade do amigo, Arthur seguiu-o até às bancadas, e subiram até conseguirem ter uma boa panorâmica de toda a pista. Os
cavalos já estavam a ser conduzidos para a linha de partida, e os jockeys colocavam as montadas nos respectivos lugares, com puxões das rédeas e pressões dos joelhos, enquanto
a assistência ia ficando cada vez mais silenciosa com a antecipação. O juiz de partida esperou que todas as montadas estivessem alinhadas o mais possível atrás da linha de
partida; depois, fez sinal com a bandeira, e, com um brado gutural da multidão, os cavalos lançaram-se para a frente, a galope.
- Qual é o nosso? - gritou Arthur ao ouvido do amigo.
- É o verde e preto! Ali no terceiro, não, no quarto lugar.
- Quarto? Pareceu-me que tinhas dito que ele não tinha hipóteses de perder.
- A corrida ainda agora começou, Arthur. Dá ao raio do pobre cavalo uma oportunidade. E agora está calado e deixa-me ver.
Charlemagne conseguiu manter-se junto aos primeiros quando os cavalos davam a primeira curva, mas não conseguiu vantagem na recta seguinte antes da curva final. Arthur observava
deprimido pelo desespero. Depois, os animais deram a curva, com Charlemagne a uns bons cinco comprimentos atrás dos três primeiros. De repente, o líder empinou-se para o lado,
quando as rédeas do jockey se partiram. O segundo animal tentou parar e foi imediatamente atirado para o lado pelo cavalo em terceiro lugar.
- Aaahhh! - bramou a multidão, e logo Charlemagne se desviou daquele caótico monte de cavalos e cavaleiros e galopou pela recta final, com a assistência a apupar e a insultar.
Quando o cavalo cruzou a linha da meta, e o jockey deu um murro no ar em sinal de triunfo, Whaley e Arthur gritaram de regozijo e agarraram-se aos separadores metálicos com
toda a força.
- Não te disse? - berrou Whaley. - Ele conseguiu. Anda, vamos ter com o O'Hara.
Embora tivesse de pagar uma soma considerável aos dois oficiais, o angariador de apostas estava bastante satisfeito, porque tinha arrecadado todo o dinheiro apostado nos três
infelizes cavalos que tinham encontrado a desgraça na recta final.
- Os cavalheiros querem fazer outra aposta?
O'Hara apontou para o quadro atrás de si, onde tinha escrito a giz os pormenores referentes às corridas seguintes. Arthur fez menção de se ir embora, mas Whaley segurou-o.
- Espera um minuto. Há aqui boas probabilidades no último nome na quinta corrida.
- Certamente que com boas razões para isso - respondeu Arthur.
- Vamos embora. Já brincámos com a sorte o suficiente hoje. Vamos pegar nos ganhos e sair daqui.
- Mas olha. As probabilidades são de vinte para um.
- Sim, mas eu duvido que possamos contar com outro golpe do destino hoje.
- Oh, vem lá, Arthur. Só apostamos cinco guinéus. Agora temos dinheiro para isso. E se ganharmos, ganharemos quase o dobro da primeira aposta. Vá lá - suplicou. - Só mais
uma aposta.
Arthur fitou-o por um momento e cedeu. Afinal, ele já tinha mais de cinquenta guinéus do que antes da aposta.
- Só mais uma, então. Mas apostarei tanto para ganhar quanto nas classificações.
O cavalo desconhecido chegou em terceiro, e Arthur bateu com o punho contra a outra mão, quando ele atravessava a linha da meta, muito para o desgosto de Whaley, que apenas
apostara na vitória. As apostas não acabaram ali. Várias corridas tiveram lugar, e Arthur tinha apostado em tantos vencedores quantos perdedores quando o dia chegou ao fim;
mas tinha preservado os seus ganhos iniciais e ficou satisfeito ao abandonar o hipódromo com mais vinte guinéus do que tivera antes de lá entrar.
Foram ao encontro dos outros dois oficiais e regressaram à carruagem alugada. Henderson e Courtney tinham perdido ambos uma pequena fortuna, mas tudo faziam para aparentar
que tal não os tinha afectado.
- É apenas dinheiro. - Jack Courtney encolheu os ombros. - Só tenho de mandar pedir mais a casa.
- Quem me dera poder fazer o mesmo - respondeu, triste, Henderson. - Já devo vários meses àqueles tubarões de Dublin. O meu pai já lhes pagou uma vez e jurou-me que não o
tornaria a fazer.
Arthur sorriu.
- Aposto que paga.
- Quanto?
- Vinte guinéus.
- Aceito.
- Mas tens de me deixar escrever a carta com o pedido.
- O quê?
- Ou escrevo a carta, ou não há aposta.
Henderson considerou os riscos da proposta por um momento e depois estendeu-lhe a mão.
- Está aceite.
Arthur ficou assombrado com aquilo em que se podia apostar. Nos meses seguintes, apostou no tempo, na cor que teria o vestido da vice-rainha no baile seguinte, na medida da
cintura do capitão Wilmott e uma vez até apostou com Whaley em como ele não conseguiria percorrer dez quilómetros ao redor de Dublin em menos de uma hora. Embora Whaley estivesse
bastante ébrio na ocasião, aceitou a aposta e, com uma grande prova de resistência, ganhou-a. Outras apostas foram ganhas por Arthur, a maior parte perdeu, e, quando o Verão
de 1788 chegou à cidade, apercebeu-se de que tinha dívidas. Devia dinheiro a Jack Dançarino de uma aposta acerca de quem conseguiria emborcar mais Tokay numa noite no castelo.
Quando Jack exigiu o dinheiro, Arthur não tinha nada para lhe dar.
- Isso é muito mau, Wesley - respondeu Jack com uma seriedade
inusitada. - Uma aposta é um ponto de honra. É como dar a nossa palavra. Um cavalheiro honra sempre as suas dívidas.
- E isso será feito -acrescentou Arthur com firmeza. - Logo que eu arranje dinheiro.
- Então vê se te despachas, antes que se saiba que não honras as tuas apostas.
A primeira pessoa a quem Arthur recorreu foi ao seu senhorio, o sapateiro em Ormonde Quay. O sapateiro não teve de ser convencido; já anteriormente concedera empréstimos a
numerosos cavalheiros seus hóspedes e sabia que eles fariam fosse o que fosse para lhe pagar as dívidas, tudo para evitar serem humilhados em público. Aliás, a taxa de juro
dos empréstimos era fonte de um bom rendimento, só por ela. Para Arthur, o problema tornou-se progressivamente pior quando precisou de pedir dinheiro a outro usurário para
pagar a este as somas que lhe devia, e estas cresciam tanto quanto uma planta trepadeira, ameaçando enrolá-lo e sufocá-lo até à morte, mais cedo ou mais tarde. Considerou
brevemente abordar o irmão William, dado que ele era agora um respeitável membro do parlamento irlandês com numerosas sinecuras, que lhe proporcionavam uma vida confortável.
Mas a perspectiva de ter de ouvir um dos sermões de William por causa das dívidas era coisa demasiada para ele suportar. A partir de certo ponto, quando se tornou claro que
ele nunca deixaria de ter dívidas enquanto estivesse em Dublin, Arthur simplesmente deixou de se preocupar com elas e aceitou-as como um facto da vida.
Dublin oferecia ainda outros prazeres do tipo mais carnal e sofisticado. E não havia clube com pior fama do que o Fitzpatrick, em Bir-dsall Street. Tão má fama tinha, efectivamente,
que lhe fora atribuído um apêndice exclusivo na última edição da Lista das Senhoras de Covent Garden do almanaque de Harry. Era para lá que Arthur e Jack Dançarino se dirigiam,
numa noite húmida de Julho. Embora já passasse das oito horas, Dublin estava banhada numa quente luminosidade alaranjada, acentuada por um fino manto de nevoeiro e fumo. À
parte uma chuvada de manhã cedo, o tempo tinha estado glorioso durante a última semana, e as ruas secas cheiravam a esgoto. Os dois oficiais estavam a atravessar um dos bairros
pobres, onde as ruas estavam cheias de crianças esfarrapadas e descalças, visivelmente esfomeadas, mas que mesmo assim ainda brincavam no meio do lixo e da porcaria, que entulhavam
a rua a todo o comprimento. Ouviam-se cantigas aos berros vindas de uma taberna ao fundo, e vários homens, que tinham bebido até caírem para o lado, estavam deitados no chão
e encostados às paredes. Uma prostituta com cara esquelética ia revistando calmamente os bolsos de cada homem, um após o outro.
- Sai daí! - Jack bateu-lhe com o bastão, e ela deu um grito ao sentir o golpe nos ombros. - Estupor de ladra!
Ele ergueu o bastão de novo, e a mulher retrocedeu, levantou-se e desapareceu a correr na esquina.
Arthur olhou em redor e apercebeu-se de que as pessoas na rua olhavam para os dois oficiais impecavelmente bem vestidos com hostilidade assumida.
- Vamos, Jack. Isto não é um lugar acolhedor.
- Não é acolhedor? Bah! Estes tipos não passam de cobardes abjectos. - Acenou com a mão um gesto de desprezo às pessoas na rua. - Como todos os irlandeses. Bárbaros de coração
negro, que só servem para plantar batatas.
- Cala-te, Jack. Ainda fazes com que nos matem.
A porta da taberna abriu-se de rompante, e dois homens rolaram para a rua, praguejando e urrando, enquanto lutavam no empedrado sujo do chão. Um deles tirou uma clava de madeira
do casaco e, antes de o outro poder reagir, partiu-lhe o pequeno bastão no crânio. Ouviu-se o som de algo a rachar, e o homem caiu inconsciente no chão, com sangue a brotar
por debaixo do cabelo. O seu agressor não perdeu um segundo e, dobrando-se sobre ele, bateu-lhe na cabeça até que a face se cobriu de sangue e miolos. Olhou para cima, viu
os dois oficiais a testemunharem o ocorrido e desatou a correr dali para fora.
Jack olhou para os seus calções brancos, para verificar se tinham sido atingidos por algumas das gotas do sangue esguichado.
- Tal como ia dizendo, bárbaros de coração negro. Em que parte do mundo tens probabilidades de encontrar uma puta ladra e um assassino em menos de um minuto? Diz-me lá, Arthur.
Arthur deu um passo na direcção do homem que jazia na rua.
- Devíamos levá-lo a um médico.
- Não vale a pena, Arthur. Ele já não tem remédio, e nós estamos atrasados. Se não estamos no Fitzpatrick à hora marcada, a minha doce Mary terá encontrado outra companhia
masculina para a noite. Vamos embora.
Arthur inclinou-se e olhou para o corpo uma derradeira vez, arrepiando-se quando viu o sangue a escorrer pelo empedrado para a sarjeta. Depois endireitou-se e apressou o passo,
seguindo o amigo.
Com a chegada do Verão, a vice-rainha dava menos bailes e concentrava-se em planear e em fazer grandes piqueniques no campo, nos arredores da cidade. Antes de começar a participar
nestes eventos, Arthur julgava que os piqueniques eram reuniões bastante informais, que consistiam num cesto enchido à pressa, em resposta a um convite espontâneo, para aprovei-
tamento de um dia quente de Verão. Os pais, irmãos e irmãs percorriam os campos ao redor de Dangan, até que encontravam um local sossegado, perto de um regato, onde podiam
arrefecer os pés enquanto comiam pão, carnes frias e queijos. Em contraste, os piqueniques organizados pela vice-rainha eram uma complexa campanha culinária que podia rivalizar
com um exercício militar, devido às exigências a que obrigava os oficiais do castelo, no respeitante à coordenação dos movimentos dos convidados, do abastecimento de comida
e das diversões. Estes preparativos tendiam a manter ocupados os ajudantes durante dias a fio, e Arthur não podia deixar de pensar que eram a forma de ela se vingar do Esquadrão
dos Desajeitados do Castelo de Dublin.
Nos dias dos piqueniques, as carroças e os vagões do pessoal contratado para a preparação da comida chegavam ao local escolhido antes da chegada dos convidados da vice-rainha.
Eram montadas tendas, as orquestras afinavam os instrumentos à sombra das árvores, e grandes quantidades de carnes frias e outros acepipes eram preparados.
A boa disposição geral de todos os que frequentavam os piqueniques influenciava Arthur intensamente, e ele era muitas vezes visto a falar alto e bom som com outros convivas.
Mal bebia uns copos, o álcool fazia sobressair nele uma faceta malévola, e muitos piqueniques se estragavam para alguns convidados, quando estes encontravam alguma forma repugnante
de vida selvagem dentro dos cestos; ou empurrava alguém para dentro de um rio; ou informava os cocheiros de que as carruagens já não eram precisas, de modo a forçar uma longa
caminhada de regresso a Dublin aos seus patrões.
Eventualmente, a vice-rainha fartou-se e convocou o tenente Wesley aos seus aposentos privados, no início de Agosto. Arthur bateu à porta principal dos aposentos e foi conduzido
ao gabinete dela por um criado.
- O tenente Wesley para falar convosco, Vossa Alteza.
- Mande entrar.
O criado recuou, e Arthur marchou porta dentro e imobilizou-se em sentido, enquanto o criado fechava as portas devagar e deixava a patroa e o seu convidado a sós. A vice-rainha
era uma senhora elegante, alguns anos mais velha do que Arthur e consideravelmente mais sensata. Estava sentada numa pequena escrivaninha e foi rápida a terminar a nota que
escrevia em folha de pergaminho, a tapar o tinteiro e a pousar a pena. Fixou o olhar nele, até que Arthur se sentiu desconfortável, e a sua cabeça se encheu de ideias acerca
da razão que teria levado a esta convocatória para uma reunião privada.
- Sente-se, senhor tenente.
- Sim, Vossa Alteza.
Puxou uma das cadeiras que se encontravam encostas à parede, prontas para récitas privadas, que ela, por vezes, organizava ali.
- Arthur, se o posso tratar assim?
Ele anuiu. A menção do seu primeiro nome não lhe caiu bem, e ele engoliu em seco, muito nervoso.
- Arthur, sabe porque está aqui?
- Não, Vossa Alteza.
Ele reconheceu a estratégia e sentiu-se como um rapazinho indisciplinado apanhado pela professora a fazer asneiras.
Ela esboçou um sorriso.
- Comportamento é o que quero discutir consigo. Nomeadamente o seu comportamento, ou a falta dele, diria melhor.
- Vossa Alteza? Não estou certo de ter percebido.
- Espero que perceba, Arthur, porque é a única maneira de se redimir. Francamente, estou farta das partidas intermináveis que prega a alguns dos meus convidados nos piqueniques.
- Nunca quis ofender ninguém, Vossa Alteza.
- Faz mais do que isso, Arthur. Causa aborrecimento. É como um rapazinho estragado com mimos, daqueles que fazem tudo para arrumar as festas de aniversário e coisas do tipo.
Só para dar nas vistas. Pois agora tem a minha atenção, e tudo o que lhe posso dizer é que estou a começar a desejar que o meu marido nunca tivesse acedido ao pedido do seu
irmão para o tornar seu ajudante. É uma pena, uma grande pena, porque o que mais aprecio é estar rodeada de homens elegantes e atraentes como o senhor. Vejo que tem potencial,
mas este comportamento mal-educado não é de todo aceitável. Faço-me entender?
- Sim, Vossa Alteza. Peço humildemente desculpas.
- Arthur, não estou interessada nos seus pedidos de desculpas. Só estou interessada em ter piqueniques sem problemas; pelo que apreciaria que não estivesse presente em mais
nenhum evento social até ao final do Verão. Será o melhor para todos os envolvidos. Pode usar o tempo livre para meditar se merece de facto este posto no castelo, ou se estará
melhor num outro local mais remoto. Está esclarecido?
- Sim, Vossa Alteza.
- Então, vá. Da sua pessoa já tive que me chegasse por hoje.
Capítulo 47
Para grande satisfação da vice-rainha, Arthur Wesley seguiu o conselho dela e começou a amadurecer e a tornar-se no tipo de cavalheiro responsável de que ela tanto se orgulhava
de ter na Corte. Deixou de haver uma lista infi-
nita de queixas acerca do seu comportamento. Para se ser específico, ainda houve algumas ocasiões em que ele aborreceu um ou outro dignitário local, mas não mais do que o
resto dos membros do Esquadrão dos Desajeitados. Efectivamente, no fim do ano, algo se havia transformado em Arthur, e ele foi de novo bem recebido nos bailes, onde dançava
com elegância, bebia com moderação e conversava de forma madura e atraente.
Com a aproximação do Natal, combinou um almoço com o irmão William, no clube deste, em Eustace Street. Mal transpôs as portas do Coulter s, Arthur apercebeu-se da atmosfera
invulgarmente calma e silenciosa, diferente da maior parte dos locais que costumava frequentar com os outros oficiais do castelo. Claro estava que isto tinha tudo a ver com
o feitio de William, pensou. O homem estava tão sinceramente comprometido com as suas ambições, que tinha decidido viver na íntegra dentro das fronteiras da respeitabilidade
e da sobriedade.
- Arthur, estou aqui - chamou William, na voz mais alta em que se atreveu, da sua mesa junto à janela. Havia outros homens a jantar em silêncio, que olharam para ele irritados,
ao ouvirem uma voz elevada, e depois prosseguiram com as refeições. Arthur atravessou a sala para ir ter com o irmão. William levantou-se, e eles deram um aperto de mão formal
e sentaram-se.
- Então, William, que novidades há?
- Novidades? Tem de haver uma razão para um irmão convidar o outro para almoçar?
- Não tem de haver razão. Só que tu nunca me tinhas convidado antes para vir aqui. Portanto, assumo que terás alguma coisa para me dizer.
- Deveras - admitiu William; a seguir, meteu a mão no bolso do casaco e retirou uma carta. - Da nossa mãe, em Londres.
Arthur olhou primeiro para a carta, por instantes, e depois em redor e fez sinal ao criado para vir atendê-lo.
- Não vais lê-la? - perguntou William.
- Para quê? Ela escreveu-te a ti. Diz-me do que se trata. Será mais rápido.
O criado veio até à mesa e fez um gesto de deferência com a cabeça.
- Senhor?
Arthur olhou para cima.
- Quero almoçar. Como cozinham a carne de porco por aqui?
- Em vinho do Porto, senhor. Com molho de Porto.
- Estou a ver. Vou querer provar isso, para começar.
- Muito bem, senhor. E para beber?
- William, que vais beber?
- Nada, por enquanto.
- Óptimo, então podes acompanhar-me num copo de Madeira.
- Sim, senhor. - O criado fechou o seu livro de anotações e, depois, virou-se e caminhou pela sala fora, em direcção à cozinha.
- Deduzo que isto vá para a minha conta? - perguntou William.
- E porque não? Tu podes pagar.
- Posso e não o negarei. A razão porque posso pagar o vinho é porque tive cuidado com o meu dinheiro, ao contrário do meu irmão esbanjador. Irmãos, melhor dito.
- Que queres dizer com isso?
- Lê a carta.
- Diz-me o que se passa.
William suspirou.
- É o Richard. O idiota meteu-se com uma estrangeira, que lhe está a chupar os ossos até ao tutano. Está a contrair dívidas terríveis. É uma coisa feia e não cai bem na imagem
da família.
- Um verdadeiro modelo de nobre comportamento, o nosso Richard - respondeu Arthur com ironia.
William fitou-o por um momento e sacudiu a cabeça exasperado.
- Verboso, como sempre.
- Mas verdadeiro.
William encolheu os ombros:
- É irrelevante. Regressando ao tópico das finanças da família, se posso...
- Faz favor.
- Sei que tens algumas dívidas, mas temos de nos concentrar nas de Richard, antes que os credores comecem a accionar as cobranças. Já hipotequei a propriedade de Dangan por
causa dele.
Arthur olhou-o abismado.
- Dangan, hipotecada?
- Tinha de ser, Arthur. Tinha de arranjar dinheiro para pagar as dívidas mais prementes. Ficou capital suficiente para pagar a dívida por mais uns dez anos, talvez. Depois
disso, resta uma pequena soma de acções entre nós e a ruína financeira. Como vês - aproximou-se mais de Arthur -, temos de começar a subir nas carreiras. Todos nós, se queremos
que esta família perdure. A carreira política de Richard vai indo bem em Londres. Logo que obtenha um dos cargos importantes do Estado, terá sinecuras suficientes que lhe
garantam um futuro estável. Decidi ir para Westminster, tal como ele. Em parte, para lhe dar apoio e, em parte, para tratar da minha carreira lá.
- Mas tu já és o deputado por Trim.
William anuiu.
- Já serviu o seu propósito. Preciso de evoluir. Portanto, vou resignar ao mandato durante o próximo ano. Vou levar a maior parte dos meus pertences comigo, mas tu podes ficar
com o que ficará para trás. Talvez te queiras mudar para Merrion Street, quando eu já não estiver cá.
- Grande bondade a tua, William.
William encolheu os ombros.
- Faz como quiseres. A oferta foi bem-intencionada.
- Tenho a certeza que sim. Não, tenho mesmo. Muito obrigado. A
sério.
William olhou fixamente para o irmão, tentando discernir se estava a ser gozado, e depois assentiu.
- Fico feliz por te poder ajudar no que puder, Arthur.
- A sério? - Arthur sorriu. - Na verdade, há um favor que gostaria de te pedir.
- Sim?
- Preciso de uma comissão de capitão. Não consigo sobreviver com o ordenado que tenho neste momento. O novo vice-rei, Lorde Westmore-land, é famoso por apreciar um quotidiano
bastante luxuoso. Isso significa que a vida no castelo se vai tornar ainda mais dispendiosa. Tu e o Richard poderão ver o que se pode arranjar? Wilmott está quase na reforma.
Já confessou que o seu posto está à venda. Ele é de cavalaria, o que significaria alguns subsídios extra que valerão a pena.
- O posto de capitão? - William mostrou-se divertido. - Está bem, vou ver o que consigo. Obviamente que poderias tentar ser um pouco menos extravagante. Entretanto, há algo
que poderás fazer por mim, como compensação.
- Diz o que é.
- Mantém-te fora de sarilhos. Tenho sabido das tuas actividades no castelo, e não são nada impressionantes, pois não, Arthur?
- Tenho-me comportado muito melhor nos últimos tempos. Pergunta e saberás.
- Sei que sim. Continua. Está bem? Para bem da família.
Arthur encolheu os ombros.
- Como queiras.
- Óptimo. - William terminara a refeição. Pousou os talheres e limpou a boca suavemente com o guardanapo. - Agora tenho de voltar para o parlamento; vou apresentar esta tarde
um relatório à comissão de informações secretas.
- Parece uma coisa interessante.
- Pode vir a ser. Os nossos agentes afirmam que vêm aí problemas
com os irlandeses. Nada de novo, mas nós achamos que já cedemos o suficiente com o Édito Católico. Só causou problemas. Lembras-te da chacina causada pelos motins de Gordon,
em Londres? Se não temos cuidado, teremos o mesmo a acontecer aqui. Parece que esta gente não ficará contente até que os ingleses se vão embora do país. Não que isso alguma
vez venha a acontecer, mas eles não deixam de sonhar com isso.
- Desde que se limitem a sonhar.
- Claro! - William fez um sorriso mordaz. - O quê? Tu achas que os irlandeses vão conseguir fazer alguma coisa? Não lhes está no sangue. São uma raça de maldispostos e mal-educados,
que não servem para mais nada a não ser o trabalho rural.
- Um ponto de vista interessante, William - respondeu Arthur em voz baixa. - Mas eu evitaria dizer isso em voz alta. De qualquer maneira, à tua saúde!
Arthur engoliu outro copo de Madeira, e William franziu o sobrolho.
- Não vais abusar da minha hospitalidade, pois não, Arthur?
- Eu? - Arthur tocou na garganta e fez expressão de ofendido. - Eu sou um homem reabilitado.
- A sério? Veremos... Veremos.
Capítulo 48
Porquanto William envidasse os seus melhores esforços, não houve promoção para Arthur no novo ano. No final da guerra com as colónias americanas, o exército regressara ao
regime dos dias de paz, e havia poucas hipóteses de promoção, dado que as comissões que apareciam à venda atingiam preços muito elevados. Só uma guerra como deve ser, ou a
perspectiva de uma, levaria à procura de oficiais e, em consequência, a uma queda no preço do posto de capitão que Arthur desejava. Embora a promoção lhe fugisse, conseguiu
transferência para o 12º Regimento Light Dragoons. A cavalaria proporcionou-lhe um ordenado superior e um uniforme muito elegante para exibir em eventos sociais. No entanto,
o novo vice-rei fez jus à sua reputação de extravagante, e, nas primeiras semanas após a sua chegada, a conta de Arthur na messe dos oficiais e outras dívidas começaram a
aumentar de forma alarmante, pois ele sentia-se obrigado a acompanhar o estilo de vida dos que faziam parte da Corte dos vice-reis no castelo de Dublin.
Quando o Inverno deu lugar à Primavera, e a temporada dos piqueniques recomeçou, Arthur estava preocupadíssimo com os seus problemas monetários. A única solução imediata que
lhe restava era cortar nas despe-
sas. E a única maneira de o conseguir era afastar-se da caótica vida social de Dublin. Começou a recusar convites, desculpando-se com compromissos marcados e regressando ao
alojamento, onde passava a tardinha ou a noite a ler livros. Este não era, no entanto, um passatempo de que quisesse falar aos seus camaradas oficiais, dado que eles já tinham
começado a queixar-se de que ele os tinha deixado de acompanhar nas suas excursões nocturnas aos bares e bordéis da cidade.
Porém, os convites do vice-rei ou da vice-rainha não podiam ser recusados sem causar a mais grave das ofensas. Qualquer soldado que fosse tolo ao ponto de colher a reprovação
deles, ia provavelmente parar a um posto pestilento nas índias Ocidentais, onde o calor ou alguma febre podiam arruinar de vez a saúde de um homem em poucos meses. E foi assim
que, num quente dia de Junho, Arthur deu por si a viajar na carruagem de Lady Aldborough, a caminho de um piquenique a ter lugar no meio de uma cadeia de montes a oeste da
cidade. Faziam parte de um longo comboio de carruagens que tinha deixado Dublin ao final da manhã. Por cima do som das ferraduras e do rodar e bater das rodas de ferro na
estrada, as vozes de centenas de convidados ecoavam alegremente pelos campos fora, fazendo com que os camponeses a trabalhar nas terras parassem e contemplassem a luxuosa
procissão que percorria as estradas campestres.
Lady Aldborough pedira a companhia de um dos oficiais mais bem-apessoados e interessantes do castelo, e a vice-rainha seleccionara Arthur. Alto, magro e atraente, possuía
ainda a reputação de ser extrovertido e divertido. A má fama de que gozara durante o reinado do vice-rei anterior estava praticamente esquecida, e era certo que seria uma
boa companhia para Lady Aldborough nesse dia. Ou, pelo menos, assim se esperava.
- Está a par das notícias de França, minha senhora? - Arthur iniciava assim a conversa. - Recebemos um jornal de Londres, hoje de manhã, na messe dos oficiais.
- E que notícias são essas?
- Bem, o país entrou em convulsão. Há motins por todo o lado. O rei foi forçado a convocar os Estados-Gerais, em Paris, para resolver a situação.
- Deveras? - respondeu Lady Aldborough secamente. - Que fascinante. E por que motivo isso será do seu interesse, senhor tenente? Ou do meu, já agora?
- Se os relatos são verídicos, e a autoridade do rei está a ser posta em causa, então, o próprio regime está ameaçado.
- Que coisa terrível. Calculo que isso significará que as remessas de chapéus e de vestidos vindos de Paris serão interrompidas. Isso será catastrófico.
Arthur fitou-a como se ela fosse louca. Ela respondeu, rindo-se da expressão dele e batendo-lhe no peito com a ponta da sombrinha.
- Estava a brincar. Peço desculpa. Mas certamente que um jovem como o senhor terá melhores coisas com que se preocupar do que com ocorrências numa terra distante.
- Podemos estar na Irlanda, minha senhora, mas a França é a vizinha mais próxima das ilhas britânicas. Deveríamos preocupar-nos com o que acontece em França.
- Num dia tão bonito como o de hoje? Mas porquê aborrecermo-nos? Não temos qualquer poder de intervenção e, por isso, deveríamos concentrar-nos nos prazeres a que temos acesso
imediato. Nomeadamente, neste piquenique. - Ela inclinou-se e deu-lhe uma palmadinha no joelho.
- Vamos lá, Arthur... se me permite? Disseram-me que era interessante e espirituoso e, no entanto, a sua conversa é indistinta e focada num tópico bastante aborrecido.
- Aborrecido?
- Política, Arthur. A política aborrece-me. Quero falar de outra coisa.
- Com certeza, minha senhora - Arthur forçou um sorriso. - E de que gostaria de falar?
Ela fitou-o em silêncio, por um momento, e depois franziu o sobrolho.
- Não sei - disse, irritada. - Isto até parece um trabalho forçado, Arthur. A conversa deve ser leve e espontânea. A sua, nem é uma coisa nem outra.
- Peço desculpa, minha senhora.
- Que coisa! Que aborrecimento. É mesmo uma pena.
Ela desviou os olhos dele e olhou fixamente para a paisagem. Arthur endireitou-se no assento, ao sentir que a situação se tinha tornado estranha entre eles. Mas não lhe apetecia
fazer conversa de circunstância. Estava genuinamente preocupado com a situação em França. Recordou a temporada passada em Angers e lembrou-se de Madame e Monsieur de Pignerolle
com ternura. Também se recordou da conversa que uma vez tivera com aquele velhote elegante acerca das tensões crescentes entre as classes sociais de França. Se não se chegasse
a um compromisso, Monsieur de Pignerolle achava que o país se desintegraria. O velho regime a que ele pertencia seria arrasado no caos que surgiria. Arthur tinha-o respeitado
desde o início. Ele incorporava tudo o que de bom tinha a aristocracia francesa: graça, refinamento e um sentido de tradição que existia desde há muitas gerações. Arthur esperava
fervorosamente que a crise passasse depressa. A própria ideia de um conflito entre as classes que constituíam a sociedade enchia-o
de ansiedade. Enquanto seguia sentado naquela carruagem e olhava para os camponeses nas terras, não podia deixar de imaginar o que aconteceria se o povo comum sentisse o cheiro
do espírito de rebelião que parecia ter apanhado a França nas suas garras, naquele último mês.
Criados do castelo tinham chegado antes deles para erguerem o pavilhão e arranjarem as mesas e cadeiras. A banda do castelo tinha chegado numa carroça, tinha preparado a música
e as banquetas e tinha ensaiado as danças que tocariam depois do almoço. Comida fria, vinhos e ponches gelados tinham sido colocados com esmero em cima de uma longa mesa,
e tudo estava pronto para receber os convidados quando chegassem de carruagem ao local. Lady Aldborough há muito que desistira do seu jovem acompanhante e, logo que a carruagem
parou, ela permitiu que a auxiliassem a descer e, de imediato, se dirigiu a um pequeno ajuntamento de outras senhoras, perto do pavilhão. Arthur observou-a com uma ponta de
remorso. Era bastante atraente, tinha uma fortuna decente e bons contactos. Exactamente o tipo de mulher que William lhe teria recomendado que tratasse bem, com vista a uma
amizade duradoura, mesmo que nada tivesse a ver com matrimónio.
Mas ele não conseguia afastar de si o véu tenebroso que ia crescendo, e que parecia estar a envolvê-lo nos meses recentes. Ao contrário da maior parte dos outros oficiais,
ele tinha alguma percepção das consequências dos seus actos, e a paixão por um estilo de vida carpe diem tinha começado a desvanecer-se. Tinha de pagar as dívidas e começar
a planear o futuro. Com as notícias dos acontecimentos em França a espalharem-se pela Europa como um vapor tóxico, Arthur não podia compartilhar da boa disposição dos convidados
do piquenique à sua volta. Olhou para eles, na maior parte jovens e despreocupados, como ele deveria ser. Porém, havia uma cegueira em relação ao mundo que os rodeava que
os tornava alvos muito vulneráveis. Nos campos por debaixo do monte, as silhuetas negras dos camponeses labutavam pela sobrevivência nos seus pedaços de terra pobre. Mal conseguiam
pagar a renda exigida pelos agentes dos proprietários. Bastaria uma má colheita para os levar ao desespero, e pessoas desesperadas são capazes de todo o tipo de violência.
Havia qualquer coisa de comovente neste momento de inocência e de prazer incipiente, e ele apercebeu-se de que deveria tentar aproveitá-lo enquanto podia. Mesmo que estivesse
errado quanto a eventuais acontecimentos, jovem é que certamente não seria por muito mais tempo.
Depois do almoço, os convidados começaram a dirigir-se ao pavilhão, onde um chão de madeira portátil tinha sido colocado. Estava combinado que Lady Aldborough concederia a
sua primeira dança a Arthur, mas agora pa-
recia que ela tinha transferido a sua preferência para o major John Cradock, um belo espécime de um dos regimentos de cavalaria. Dado que havia mais homens do que mulheres
no piquenique, as restantes senhoras já estavam comprometidas. Quando a banda começou a tocar a introdução à primeira dança, os pares dirigiram-se à pista de dança, deixando
Arthur e uma mão-cheia de outros homens de lado, a ver. Quando a música começou, os pares na pista de dança começaram a mover-se numa bela demonstração sincronizada de passos.
Arthur ficou a observá-los por um bocado, até que teve uma desconfortável sensação de picada por debaixo do colarinho. Afastando-se da tenda, foi até à mesa posta, onde as
taças de prata do ponche de fruta brilhavam ao sol. Serviu-se de um copo e depois foi andando até uma pequena elevação coberta de castanheiros. Estava fresco à sombra, e ele
descobriu o tronco de uma árvore que caíra há muitos anos e que estava seco e duro. Sentou-se, de costas viradas para o pavilhão e de frente para a encosta, vendo o distante
nevoeiro sobre Dublin a espalhar-se pela paisagem. Por cima dele, o barulho seco, que o vento fazia ao agitar as folhas, era calmante e, por um bocado, ele encostou-se, fechou
os olhos e respirou com serenidade, cheirando o odor agreste do musgo e das flores que cresciam sob os castanheiros.
Depois, quando a música cessou, e se ouviram aplausos de circunstância, Arthur procurou na sua casaca o pequeno volume que começara a ler dias antes. Mexeu os ombros, de forma
a encontrar a posição mais confortável possível para permanecer encostado ao tronco caído, e abriu o livro, procurando a página onde tinha ficado. Respirou fundo e depois
exalou o ar lentamente, ao começar a ler. Rapidamente ficou absorto, com a atenção totalmente focada no material à sua frente. Tanto assim era que não se apercebeu da presença
da rapariga, quase até ao momento de ela ficar imóvel à sua frente. De imediato, com um movimento brusco, pôs-se de pé e fechou o livro.
- Desculpe, senhora. Eu não a vi.
Ela sorriu.
- Sou eu quem deve pedir desculpas, senhor, por perturbar o seu recolhimento.
- Bem, sim...
- Para dizer a verdade, estava curiosa. Vi-o vir para aqui, a afastar-se da pista de dança.
- Efectivamente.
A expressão de Arthur descontraiu-se ao ver o brilho bem-humorado dos olhos, que o fitavam por debaixo de uma moldura de caracóis castanhos. Ela sorriu-lhe de novo.
- Ah, mas tem um livro consigo. Está tudo explicado. É muito mais compensador do que fazer companhia às outras pessoas.
Por instantes, Arthur sentiu-se irritado, até se aperceber de que ela tinha apreendido o seu carácter na perfeição e o seu rosto contraiu-se num sorriso. Ela riu-se.
- Pensei que tivesse sentido de humor.
- Isso é sabido em alguns círculos - concedeu Arthur. - Porém o meu sentido de humor nem sempre é bem recebido.
- Isso também é sabido.
Arthur empertigou-se.
- Que posso fazer por si, senhora?
- Kitty. O meu nome é Kitty Pakenham. - Estendeu a mão, e Arthur inclinou-se para a beijar. - E já tenho conhecimento de quem é o senhor. Vim até aqui para ver se teria a
amabilidade de me convidar para dançar.
- É uma menina muito directa, menina Pakenham. - Arthur sorriu trocista. - Mas eu terei todo o gosto em convidá-la para a próxima dança.
- E eu terei todo o gosto em aceitar.
Viraram-se para o pavilhão e começaram a andar pela encosta abaixo. Arthur estava muito divertido com a atitude espirituosa da rapariga. Ergueu o livro para o colocar de novo
no bolso da casaca, mas ela estendeu o braço e impediu-o.
- O que é?
- Nada importante.
Inclinou a cabeça para conseguir ler o título.
- Ensaio Acerca da Compreensão Humana. É Locke, não é?
- É verdade.
- Uma estranha escolha de leitura num jovem. Ainda mais estranha num ajudante do castelo. Alguém me avisou de que o senhor era do tipo sério e livresco.
- Deixe-me adivinhar quem: Lady Aldborough.
- Tem a estima dela, senhor - riu-se Kitty.
- E ela tem a minha.
Juntaram-se aos outros pares na pista de dança, quando a banda já começava a tocar a música seguinte. Arthur nem teve tempo de colocar as mãos com muita delicadeza, porque
Kitty o agarrou, e deixaram-se envolver naquele vaivém de saias e calções apertados. Ela era apenas uma dançarina mediana, e Arthur, sendo muito melhor, teve dificuldade em
mudar o passo constantemente, de modo a evitar pisar-lhe os pés fora de posição. Quando a dança chegou ao fim, ela riu-se da expressão de ansiedade dele.
- Oh, pobre de mim. Fui um par assim tão terrível?
- De maneira nenhuma. - Arthur tentou ser galante. - A menina dança com... exuberância.
- Exuberância! - Ela abanou a cabeça. - Nunca tinha ouvido chamarem-lhe isso. Mas está a ser simpático comigo, senhor. E agora sinto que impus a minha presença à sua pessoa
por uma dança a mais.
- A próxima dança está comprometida? - Por causa da falta de senhoras, era bastante provável que a dança seguinte de Kitty já estivesse comprometida. De facto, ela olhou em
redor e franziu o sobrolho, ao descobrir o major Cradock embrenhado numa conversa intensa com Lady Aldborough. Voltou-se para Arthur, com um sorriso luminoso.
- Parece que está com sorte. A próxima dança é sua, se assim o quiser.
- Muito obrigado.
Passaram o resto da tarde juntos, a dançar, o que sujeitou a uma dura prova a agilidade de Arthur, ou em conversas descontraídas. Acontecia que os Pakenham viviam a apenas
vinte quilómetros de Dangan e que havia muitos conhecidos em comum na área. Quando o baile chegou ao fim, e os convidados começaram a dirigir-se para as respectivas carruagens,
as preocupações anteriores de Arthur tinham desaparecido há muito, substituídas por uma invulgar atracção pela natureza daquela jovem gentilmente atrevida. Por fim, a amiga,
em cuja carruagem viera de Dublin, chamou-a para regressarem.
- Valha-me Deus! - Arthur olhou em redor com ansiedade, mas já não havia sinais de Lady Aldborough nem da sua carruagem, entre as poucas que restavam. - Era suposto eu regressar
na carruagem de Lady Aldborough. Ela deve achar-me terrivelmente mal-educado.
- Eu não me preocuparia com ela - interrompeu a amiga de Kitty.
- O "Belo" Cradock ofereceu-se gentilmente para a acompanhar de volta ao castelo. Já partiram há um bom bocado.
- Raios! - resmungou Arthur. Se aquela história chegasse à vice-rainha, ela não ficaria contente com ele. De repente, lembrou-se de outra coisa. - Como diabos vou eu regressar?
Kitty baixou o olhar, embaraçada.
- Muito gostaria de lhe oferecer um lugar na nossa carruagem, mas receio que já não haja nenhum.
- Não tem importância - sorriu-lhe Arthur. - Decerto que arranjarei um lugar algures. Foi uma óptima tarde, menina Pakenham.
- Foi mesmo - sorriu-lhe ela. - É uma pena eu ter de regressar a casa amanhã. De outro modo, poderia ter o prazer da sua companhia por mais um pouco.
Arthur sentiu um afiado espasmo de desespero com estas palavras, e a melancolia começou a tomar conta dele de novo. Forçou um sorriso.
- Tenho a certeza de que nos encontraremos de novo, menina Pakenham.
- Muito me agradaria que isso acontecesse.
Capítulo 49
O regimento de La Fère fora transferido para Auxonne, na região da Burgúndia. Quando Napoleão chegou, ficou desapontado ao descobrir que Auxonne era uma pequena cidade mercantil
de província, com poucas das vistas e distracções que o haviam deslumbrado em Paris. O quartel era um delapidado amontoado de edifícios no limite da cidade, embora o regimento
tivesse a sua própria escola de artilharia, onde oficiais franceses e uns tantos estrangeiros aprendiam o seu ofício e faziam experiências com todo o tipo de modificações
nas cargas, munições e armas. Napoleão tinha sido informado de que o comandante da escola era o general Barão du Tiel, uma lenda entre os oficiais de artilharia mais profissionais
do exército francês. Era uma grande oportunidade ser ensinado por este homem, e Napoleão estava ansioso por conhecê-lo.
Caía o fim da tarde, quando se apresentou na casa da guarda. Após verificarem os documentos, indicaram-lhe o edifício do comando. Napoleão encontrou o gabinete do adjunto
do comandante e bateu à porta.
- Entre!
Napoleão entrou. Por detrás da secretária estava o capitão Des Mazis, que levantou a cabeça, e cujos olhos se abriram de espanto ao reconhecer o recém-chegado.
Napoleão fez continência e depois entregou-lhe os documentos.
- Tenente Buona Parte regressado de licença, senhor.
- Buona Parte! Meu Deus, quanto tempo se passou? - O capitão Des Mazis franziu a testa, tentando recordar-se. - Um ano? Não, quase um ano e meio, não foi?
- Sim, senhor.
- Estou surpreendido por tornar a vê-lo. Já quase tínhamos perdido as esperanças de que regressasse. Qualquer doença que leve um homem a ficar fora do seu regimento por tanto
tempo tem tendência a ser daquelas de que não se recupera.
Sorriu e levantou-se, oferecendo-lhe a mão. Napoleão aceitou-a.
- É bom estar de volta, senhor.
- Bom? - O capitão Des Mazis abanou a cabeça pesaroso. - Não
há muita coisa boa nesta cidade, como já deve ter reparado. Uma grande diferença em relação a Valence. - Sorriu tenuemente. - De qualquer forma, sempre há uns locais onde
beber, e putas que cheguem para todos. Serve. Pelo menos terá um quarto na messe dos oficiais. Ao fundo do corredor, e depois volta à esquerda para o hall de entrada. Não
se pode enganar. É o único local divertido por quilómetros em redor.
Napoleão fez continência, deixou o gabinete do adjunto e seguiu as indicações que ele lhe dera para chegar à messe. Os sons de risos e conversas animadas ecoavam no hall de
entrada. Napoleão deu instruções ao bagageiro para procurar o sargento da messe, para que este lhe indicasse o seu quarto, e depois pagou-lhe. Alisando o cabelo e as rugas
da casaca, Napoleão entrou na messe.
As instalações dos oficiais do regimento eram tão degradadas quanto o resto do quartel. O chão era de pedra nua e havia umas poucas mesas e cadeiras decrépitas posicionadas
ao longo das paredes húmidas. No centro da sala, um círculo descontraído de jovens oficiais rodeava dois dos seus camaradas, cada um com a sua garrafa de vinho em cima da
cabeça. Ambos empunhavam espadas e tentavam anular-se um ao outro nos movimentos e deitar a garrafa do oponente ao chão. Os outros oficiais apoiavam-nos e não tomaram atenção
a Napoleão, quando ele se aproximou do círculo. Espreitando por entre os ombros de dois espectadores, Napoleão conseguiu ver, por fim, que um dos esgrimistas era o seu amigo
Alexandre Des Mazis. Este esticava-se, de pernas abertas e olhos fixos na ponta da lâmina do oponente, numa verdadeira imagem de concentração e focalização. Depois, colocou
um pé à frente, deixou cair todo o peso do corpo sobre ele e esticou o braço com rapidez. Quando o outro homem se moveu para bloquear, Alexandre recuou o braço, levantou a
ponta da espada e empurrou a lâmina por cima da cabeça do opositor. A garrafa tombou no chão, numa explosão de vidro verde e vinho vermelho.
- Touchél - gritou Alexandre em triunfo, inclinando a cabeça e apanhando a outra garrafa com a mão livre. - Deves-me meio-luís.
O outro oficial assentiu desgostoso, procurou no bolso do seu colete, puxou uma moeda de ouro e atirou-a a Alexandre. O ajuntamento começou a dispersar. Alexandre olhou para
os camaradas, com um sorriso brilhante, até que os olhos se fixaram na figura baixa que lhe devolvia o olhar, com um sorriso trocista.
- Napoleão! - Alexandre meteu a espada na bainha, caminhou com passos largos para o amigo e agarrou-o pelos ombros. - Pensei que não te tornava a ver. Desaparecido naquele
buraco de fechadura da Córsega, para de ti nunca mais se ouvir falar. E agora aqui estás tu! Que foi que te manteve afastado este tempo todo?
- Doença... Assuntos de família.
- E alguma mulher, até aposto. - Alexandre deu-lhe uma cotovelada.
- Estás assim tão interessado em perder aquele meio-luís tão cedo?
- Napoleão deu uma gargalhada. - Para além de tudo, não tenho tempo para mulheres.
- Pois claro. - Alexandre fez cara séria. - Quando a escolha é entre enrolares-te com uma mulher ou com um livro, o livro ganha sempre.
- Depende do livro.
- Então é porque ainda não encontraste a mulher certa. Tenho de tratar disso, logo que possa. - Alexandre ergueu a garrafa. - Anda, vamos tomar um copo.
Sentaram-se numa mesa, e Alexandre chamou um dos intendentes da messe para que trouxesse copos. Mordeu a rolha de cortiça que emergia do gargalo da garrafa e puxou-a para
fora com um urro, cuspindo-a depois para o chão.
- Um vinho local. Não é o melhor, mas ajudar-nos-á a esquecer as suas origens. - O intendente apareceu apressado com dois copos, e Alexandre encheu-os até às bordas. Depois
ergueu o seu, brindando. - É bom voltar a ver-te.
- E a ti também.
Emborcaram o vinho de uma só vez, e Napoleão tentou não se encolher ao sentir a acidez a queimar-lhe a garganta e o estômago.
- Pinga amarga!
- E é a melhor que arranjamos em Auxonne. - Alexandre abanou a cabeça. - Isto não tem estado nada bem. Tudo em pouca quantidade, e os preços a subirem todos os dias. Há meses
que não provo um vinho decente. E graças à má colheita, quase que não há farinha suficiente na cidade para fazer um pão que se veja. Isto até faz um homem crescido chorar.
- Sim... - Napoleão recordou os rostos escanzelados dos habitantes da cidade, que vira quando atravessara Auxonne. Enquanto Alexandre só precisava de passar sem os seus luxos,
eles e as suas famílias lutavam para não morrer à fome. - É a mesma coisa em quase todas as localidades por onde passei, quando vinha de Paris para aqui. Tem havido motins
também. Tenho de te dizer, Alexandre, que estou preocupado. Parece que o país inteiro está a ponto de...
- A ponto de quê?
- Não sei exactamente. Mas não vai ser bonito.
Alexandre encolheu os ombros.
- É para isso que serve o parlamento. O rei vai dar a oportunidade a
todos de deixarem sair a pressão. Logo que o clero, a nobreza e os comuns tenham tido a hipótese de expressar as suas queixas, o balão vai esvaziar-se. Vais ver.
Napoleão ergueu as sobrancelhas.
- Achas que sim?
- Claro! - Alexandre encheu os copos de novo. - Repara: o rei precisa dos impostos. Não consegue esse dinheiro dos nobres. Eles simplesmente não aceitarão. E como o clero
está cheio de filhos da nobreza, é bastante improvável que se ponha contra os nobres. O que deixa o Terceiro Estado a perder dois a um. Terão de pagar um aumento dos impostos,
quer queiram, quer não.
- Digo-te desde já que eles não vão gostar disso. Nem vão tolerá-lo por mais tempo.
Alexandre respirou fundo.
- As barrigas deles podem estar vazias, mas o resto dos corpos estão cheios de ar quente. Tu estiveste em Lyons e viste a pressa com que cederam ao primeiro sinal das baionetas.
Já lidámos com outras duas revoltas depois dessa, com exactamente o mesmo resultado. Um bom lembrete é do que a ralé precisa. Isso, ou uma colheita decente, ou umas entregas
de pão à borla, e eles vão acalmar, não tarda nada. Vais ver.
Napoleão olhou para o copo, fez rodar o vinho tinto mesmo por debaixo da borda e bebeu-o de um trago. Encolheu os ombros.
- Espero que tenhas razão.
- Seja como for, chega de política. Que andaste tu a fazer, desde que nos deixaste em Valence?
Napoleão foi contando as suas novidades, com a mente ainda cheia de dúvidas graves quanto ao futuro. Se todos os nobres tivessem tão pouca noção quanto Alexandre da raiva
crescente nas ruas esfomeadas das cidades e nos campos dos arredores, então, nem se aperceberiam da aproximação da tempestade que um dia poderia arrasá-los. Napoleão tinha
avaliado o sentimento popular em Paris. Tinha lido os panfletos e ouvido os discursos inflamados que se insurgiam contra as injustiças que afligiam a França. Era claro como
a água para ele. As pessoas comuns, os camponeses, os trabalhadores da cidade, os mercadores, os advogados e o resto dos burgueses, todos e cada um deles tinham simplesmente
suportado mais do que podiam, e as vozes exigiriam ser ouvidas no dia em que os Estados-Gerais fossem convocados. Olhando para os outros oficiais na messe, a Napoleão custava-lhe
acreditar que eles permanecessem tão cegos às condições em que os seus compatriotas viviam.
Capítulo 50
Passadas poucas semanas, Napoleão tinha regressado à rotina da vida no exército. Os longos meses em Paris, com pouco para fazer, tinham sido terrivelmente frustrantes para
ele, e agora sentia um prazer muito positivo ao ficar imerso na ciência prática dos assuntos da artilharia. Pouco após o seu regresso ao serviço, Napoleão ficou consignado
à escola de artilharia, um edifício pequeno numa das extremidades do quartel, onde o general Du Tiel e o seu restrito grupo de oficiais-ajudantes estudavam as mais modernas
tecnologias e teorizavam acerca da melhor maneira de desenvolver o uso táctico da artilharia.
Era da responsabilidade de Napoleão fazer todas as preparações necessárias para os testes de campo. Isto significava colocar as armas à distância certa e assegurar que o tamanho
das cargas usadas e o disparo fossem tão consistentes quanto possível. Era ele quem escolhia a equipagem dos canhões e seleccionava pessoalmente as melhores armas do parque
de artilharia. Com o passar dos meses, Napoleão desenvolveu um conhecimento completo e profundo do potencial dos canhões à sua disposição e sabia exactamente que dano eles
eram capazes de causar.
No Outono, a sua especialização crescente em assuntos de artilharia tinha impressionado o general o suficiente para ele permitir que o jovem tenente escrevesse os relatórios
oficiais das experiências da escola de artilharia. Quando a noite caía, Napoleão trabalhava até tarde, à luz de velas, totalmente absorto pela matéria em causa. Quando não
estava a trabalhar nos relatórios, regressava ao seu quarto, com livros e manuais técnicos, requisitados na biblioteca da escola de artilharia. Sentado à sua pequena secretária,
estudava-os atentamente, tomando notas à medida que avançava, acumulando e expandindo o seu conhecimento.
Ao mesmo tempo, continuava a ler muitos dos panfletos políticos que apareciam nas livrarias e bibliotecas de Auxonne. Existia uma sensação palpável de excitação na população
local, porque a data para a abertura do parlamento estava marcada para 5 de Maio do ano seguinte, e Napoleão até escutou inadvertidamente alguns soldados no quartel a discutirem
o que poderia ser conseguido pelo povo de França se, ao menos, o rei e as classes privilegiadas dessem ouvidos às queixas dos representantes dos Comuns. Com tanta coisa em
jogo, como podia o rei ignorar o sofrimento da grande maioria do seu povo? Os soldados, como as gentes da cidade, estavam cheios de esperança, e Napoleão, como eles, sentia
que o destino estava do lado dos espezinhados. Só um louco não cederia aos pedidos razoáveis de uma Constituição mais justa, que convergiam para Paris, vindos de todos os
cantos do país. Algures, no meio das reformas que podiam ser
implementadas, Napoleão esperava que houvesse justiça para a sua família: uma compensação pelo contrato que o governo não cumprira. Foi isto que escreveu à mãe na carta em
que lhe explicou porque não regressara à Córsega.
Se o povo de Auxonne e muitos dos soldados do quartel estavam preocupados com a aproximação do parlamento, o mesmo não se podia dizer da maior parte dos oficiais. Continuavam
a beber, a frequentar bordéis, a caçar e a ir a bailes organizados pela nobreza da região. Dado que Napoleão se mantinha à parte da maioria dos oficiais, recebia cada vez
menos convites para eventos do género. Embora a sua solidão auto-imposta o deprimisse de tempos a tempos, havia pouco que pudesse fazer acerca disso. Ele já estava a enviar
tanto quanto podia do seu ordenado à família na Córsega, para ajudar a mãe a alimentar os irmãos. Com o pouco que ficava, quase não conseguia alimentar-se convenientemente,
quanto mais juntar-se a Alexandre e aos outros para noites de bebida nas míseras tabernas de Auxonne.
As suas prolongadas ausências da messe dos oficiais significavam que ele atraía instantaneamente a atenção, nas raras ocasiões em que fazia uma visita. Ele notava os olhares
de soslaio, os risos mal disfarçados e os comentários em voz baixa, que assumia serem a seu respeito. Fazia o possível por ignorá-los. Por vezes, encontrava Alexandre na messe
e conseguia ter a companhia do amigo só para si, até que a ele se juntavam os outros amigos. No minuto seguinte, a conversa inevitavelmente centrava-se em Napoleão, com os
outros oficiais a divertirem-se com o seu passatempo favorito, que consistia basicamente em fazer pouco dele e das suas origens corsas. Napoleão controlava o seu temperamento
e suportava as provocações, o máximo que conseguia.
Quando o novo ano de 1789 chegou, e o Inverno deu lugar à Primavera, a atmosfera política carregada que tomara conta de França começou a dividir os membros da messe dos oficiais,
de acordo com a sua classe e princípios. Quando o novo parlamento abriu em Maio, os homens do regimento devoravam cada notícia que chegava a Auxonne, vinda de Paris. Levou
vários dias para todos os mil e duzentos representantes apresentarem as credenciais, e depois aconteceu que os ministros do rei ainda não tinham decidido se os três Estados
se deviam reunir em separado ou juntos. E assim, os dias transformaram-se em semanas, com o clero do Primeiro Estado e a nobreza do Segundo Estado recusando-se a compartilhar
a câmara de debates com os representantes do povo comum de França. A falta de espírito de compromisso alimentou as tensões, tanto na messe dos oficiais em Auxonne, como nas
ruas da cidade.
Numa noite, perto do fim de Junho, com a chuva a cair com força sobre Auxonne, Napoleão apressou-se a atravessar a parada entre a escola
de artilharia e a messe dos oficiais. Saindo da chuva, tirou o chapéu e o sobretudo encharcados e entregou-os ao intendente às ordens. Um grupo de jovens oficiais, incluindo
os irmãos Des Mazis, estava a jogar às cartas, com grande algazarra, nas mesas ao lado da lareira, e Napoleão passou por eles e virou-se de costas para o fogo, para se aquecer.
Viu que Alexandre o tinha visto e cumprimentou-o com um aceno de cabeça.
- O quê? Não estás a ler um livro de História hoje à noite, Napoleão?
- Sabes, tu até poderias aprender uma ou duas coisas com os livros
- respondeu enfadado.
Alexandre encolheu os ombros.
- Que tenho eu a ver com o que aconteceu há mil anos? De qualquer forma, já ouviste as notícias?
Napoleão abanou a cabeça.
- Explodiram motins em Seurre - disse Alexandre. - Tem qualquer coisa a ver com o preço do pão. O coronel vai enviar um destacamento lá abaixo para acalmar as coisas.
- Seurre? - Napoleão franziu o sobrolho. - Onde fica isso?
- É uma pequena cidade, a dois dias de marcha daqui. O meu irmão vai comandar o destacamento. Depressa vai pôr a ralé a fugir.
- Estou certo disso.
Alexandre fitou-o por instantes.
- Que queres dizer com isso?
- Apenas que os amotinados estarão fracos com a fome e armados com paus e facas. Que hipóteses terão contra soldados treinados e armados com mosquetes? Vão fugir à primeira
rajada.
- Claro que vão, aquela escumalha cobarde.
- Escumalha cobarde? - Napoleão abanou a cabeça. - Não. São apenas pessoas comuns. Foi a fome que os levou a agir.
- Napoleão - interrompeu o capitão Des Mazis -, tenha cuidado. Parece que está do lado deles.
- Não, não estou. Não podemos dar-nos ao luxo de ter revoltosos a desafiar a lei. Mesmo assim, compreendo as suas queixas. Tenho pena deles.
O capitão Des Mazis franziu o sobrolho.
- Tem pena deles?
- Tenho sim, senhor. - Napoleão olhou para o chão, pensativo.
- Estão sujeitos a todo o tipo de impostos: o dízimo, o imposto de habitação, o imposto de capitação. Depois de pagos os impostos, para eles ficam apenas migalhas, o que implica
que passam as vidas a lutar pela sobrevivência. Percebo o desespero daquela gente. E consigo compreender a sua raiva,
quando vêem a nobreza e o clero a gozarem vidas de luxo, sem pagarem qualquer imposto. O que me surpreende é que eles tenham aguentado isto por tanto tempo. Nem consigo imaginar
o sofrimento que levou as gentes de Seurre a agir.
Olhou para cima e viu que a maior parte dos oficiais o contemplava com hostilidade declarada. Até Alexandre parecia aborrecido com a explicação. Seguiu-se um silêncio incómodo,
e depois a cadeira do capitão Des Mazis foi empurrada para trás e ele levantou-se.
- Tenente Buona Parte, considero os seus sentimentos ofensivos. Não há local para tais opiniões nesta messe, e far-me-á o obséquio de não tornar a tocar nesse assunto. Faço-me
entender?
Napoleão sentiu as maçãs do rosto a corarem de embaraço e de fúria.
- Senhor, não quis ofender ninguém. Apenas tentava explicar a motivação dos revoltosos.
- O senhor é um soldado, tenente, não é um político, nem um filósofo, graças a Deus! Jurou lealdade ao rei; não à ralé das ruas. E esta messe não tolerará nenhuma tentativa
de justificação das acções ilegais daqueles perigosos amotinados. Está esclarecido?
- Sim, senhor - respondeu Napoleão em voz baixa. - Perfeitamente esclarecido.
- Óptimo. Assim sendo, vou pedir-lhe para sair da messe imediatamente, para nos poupar a mais alguma das suas opiniões imprudentes. Saia!
- Sim, senhor. - Napoleão fez continência, com o rosto corado de vergonha. Afastou-se da lareira e encaminhou-se para a porta.
- Uma última coisa, tenente - gritou-lhe o capitão Des Mazis.
Napoleão parou e voltou para trás.
- Senhor?
- Tendo constatado que possui um entendimento tão profundo destes criminosos, fica consignado ao meu destacamento amanhã. Vamos ver que pena terá quando tiver de enfrentar
uma multidão ululante de... animais. - Esboçou um sorriso frio. - Talvez possa chamá-los à razão.
Napoleão sentiu o rosto a arder de raiva. Depois virou-se e abandonou rapidamente a messe dos oficiais.
Capítulo 51
A expedição a Seurre trouxe de volta a Napoleão memórias desconfortáveis da revolta de Lyons. À medida que o destacamento ia passando por pequenas aldeias, ele deu conta que
os habitantes os olhavam com ressentimento
e hostilidade quase nada disfarçados. No final do primeiro dia de marcha, os soldados acamparam num descampado abandonado, no meio de uma série de casebres degradados. O capitão
Des Mazis e o irmão foram passar a noite com um proprietário local, deixando Napoleão a comandar o acampamento.
Quando os soldados preparavam a refeição da noite, algumas crianças pequenas e desgraçadamente magras deambularam por entre as linhas das tendas e ficaram paradas a olhar
para os potes da comida. Napoleão reparou que um dos cabos falava com as crianças com um sorriso doce.
- Não faz mal. Venham cá e digam-me os vossos nomes.
Elas olharam para ele com aqueles olhos encovados, até que ele se agachou e lhes fez sinal com a mão para avançarem. Depois, uma das crianças, um rapaz esguio, com uma madeixa
de cabelo louro, caminhou para ele, hesitante.
- Assim é que é! - disse o cabo com um riso trocista. - E quem serás tu, então?
Os lábios do miúdo tremeram por instantes, e, depois, ele respondeu, em voz baixa.
- Por favor, senhor, o meu nome é Philippe.
- Philippe... Tens fome, Philippe?
O miúdo lambeu os lábios e anuiu.
- E o resto dos teus amigos? Venham cá, todos. Sentem-se ali ao pé da fogueira, para comerem um bocado de guisado.
Eles saíram das sombras, como se fossem fantasmas, e sentaram-se na erva, com os olhos fixos no pote da comida.
Um soldado benzeu-se.
- Jesus Cristo! Olhem para eles. Só pele e osso.
- Ora, não fiques aí parado a olhar - disse o cabo, em voz baixa.
- Dá-lhes alguma coisa de comer.
Quando os soldados começaram a partilhar a comida com as crianças, mais silhuetas surgiram das sombras: outras crianças mais velhas, adultos e uma mão-cheia de velhos e velhas.
Todos escanzelados e pateticamente silenciosos estendiam as mãos para os pedaços de pão que o cabo lhes ia distribuindo, na parte de trás da carroça de mantimentos.
Logo que se apercebeu das acções do cabo, Napoleão dirigiu-se apressado à carroça.
- Que se passa aqui? Isso são mantimentos militares. Pare imediatamente!
O cabo parou, e ao seu redor os aldeãos viraram-se para o jovem tenente com os rostos desesperados e amedrontados. Napoleão ouviu um li-
geiro queixume a sair da garganta de alguém. Foi empurrando as pessoas para poder chegar à frente, junto à carroça.
- Cabo, ponha esse saco de pão dentro da carroça.
O homem fitou-o por um momento; depois, desceu da carroça e perfilou-se em frente ao oficial.
- Senhor, estas pessoas estão a morrer de fome.
- Eu dei-lhe uma ordem, cabo!
Um olhar de dor toldou os olhos do cabo, enquanto se debatia com a sua consciência.
- O senhor tem de ver uma coisa.
- Quê? De que está a falar, cabo? - Napoleão intimidou o homem com o olhar. - Obedeça à minha ordem.
- Senhor, por favor, venha comigo.
Sem esperar pela resposta, o cabo deu a volta à carroça, com Napoleão atrás dele, tão furioso que as suas veias estavam visivelmente dilatadas.
- Que significa isto, cabo? Eu disse-lhe...
- Senhor, olhe.
O cabo apontou para a base de uma das rodas da frente. Primeiro, Napoleão pensou que o homem estava a apontar para uma pilha de trapos. Depois, quando os olhos se adaptaram
à claridade baça da fogueira próxima, ele viu a cara de uma mulher jovem, pouco mais velha do que uma menina. Ela olhou para ele com os olhos a brilhar de terror. Tinha um
vestido em farrapos, desabotoado até à cintura. Agarrado ao peito estava um embrulho que lhe pendia do braço, como se fosse uma bolsa aberta.
- Ele não mama - murmurou ela com voz rouca. - Não consigo que ele mame...
O cabo agachou-se ao lado dela e, com cuidado, meteu-lhe um naco de pão na mão.
- Toma. Come isto. Ele não vai mamar até que tu comas alguma coisa. Come e tenta outra vez, depois.
Ela olhou espantada para o cabo e depois deixou cair os olhos no pão que segurava; em seguida, lentamente, levou-o à boca e começou a mastigar o canto, ao mesmo tempo que
embalava o bebé devagar, ao ritmo com que os maxilares mastigavam a crosta que tinha na boca. O cabo ergueu-se e, pegando no braço de Napoleão, conduziu o seu oficial gentilmente
para a parte de trás da carroça.
- Tenho uma filha da idade dela.
Napoleão engoliu em seco.
- O bebé? Viverá?
O cabo olhou-o, como se não o visse.
- Ele está morto, senhor.
- Morto? - Napoleão sentiu-se enjoado. - E ela não sabe?
O cabo abanou a cabeça.
- A pobre miúda está meio doida com a fome. Duvido que ela também dure muito mais.
- Compreendo. - Napoleão anuiu. Dentro de si sentiu um fundo poço de negro desespero a encher-se, a ameaçar transbordar e a afogá-lo. As lágrimas surgiram-lhe nos cantos dos
olhos, e ele teve de lutar para controlar os sentimentos. Mas, ao seu redor, via as silhuetas esqueléticas dos aldeões amontoadas no avermelhado das fogueiras, sofrendo em
silêncio, ao partilharem a comida dos soldados. Engoliu em seco, de novo, e virou-se para o cabo. - Dê-lhes de comer. Dê-lhes de comer a todos. Veja se comem uma refeição
decente.
- Sim, senhor. - O cabo respirou aliviado.
- Ninguém devia ter de viver assim - disse Napoleão.
- Não, senhor. Não está certo.
Napoleão abanou a cabeça lentamente.
- Não, não está certo. É... intolerável!
O destacamento partiu ao raiar do Sol, enquanto os aldeões ainda dormiam. Saíram da aldeia como ladrões a fugir da cena do crime, e Napoleão deu instruções aos seus homens
para se mexerem, tão ansioso que estava em deixar aquele lugar terrível para trás e em se afastar o mais que pudesse daquela miséria.
Pararam nos pilares da entrada da vereda que conduzia ao castelo, onde o capitão e o irmão tinham passado a noite. Depois de hora e meia à espera, os dois oficiais lá apareceram
a cavalo pela vereda abaixo.
O capitão Des Mazis acenou com a cabeça um cumprimento a Napoleão.
- Bom trabalho, tenente. Isto poupou-nos algum tempo.
- Sim, senhor.
Os homens olhavam com caras de poucos amigos para os dois oficiais, e Alexandre aproximou o cavalo de Napoleão e inclinou-se de modo a falar sem que ninguém, para além de
eles os dois, pudesse escutar as suas palavras.
- Que aconteceu? Parece que alguém lhes cagou no pote da comida.
Napoleão fitou Alexandre. Queria contar-lhe tudo. Queria partilhar o conhecimento do sofrimento terrível da aldeia que tinha deixado para trás na estrada. Depois, olhou para
além de Alexandre, pela vereda acima até onde os telhados bicudos do castelo brilhavam por cima das copas das árvores, e soube que o jovem jamais o compreenderia.
- Não é nada. Eles só querem que isto acabe para poderem regressar ao quartel.
Chegaram a Seurre ao cair da tarde e descobriram que a milícia local já havia esmagado a revolta. No início, Napoleão ficou desapontado que tivessem chegado tarde de mais
para assistir à movimentação. Quando a coluna marchou pelas ruas quase desertas de Seurre, foi olhando para as fachadas altas das casas dos mercadores ricos. Aqui e ali, nas
janelas, viu pessoas a observá-los. Algumas revelavam ansiedade, outras, alívio, mas Napoleão sentiu que as causas da revolta não estavam sanadas. Esta impressão reforçou-se
guando atravessaram os bairros pobres densamente povoados numa zona das classes trabalhadoras. Todas as portas e janelas estavam trancadas, e não havia sinal de vida. Mais
adiante, a coluna passou por uma fila de ruínas negras de armazéns. O ar estava acre com o cheiro das instalações calcinadas, e finas colunas de fumo ainda se elevavam no
ar a partir delas. Havia também outras casas queimadas e outros edifícios com portas arrombadas e janelas partidas. Despojos destruídos e abandonados entulhavam as ruas empedradas,
onde se viam, aqui e além, manchas negras de sangue seco.
O coronel que comandava a milícia esperava-os debaixo de um guar-da-chuva, num dos cantos da praça da cidade. Levantou-se para cumprimentar os recém-chegados com uma continência.
O capitão Des Mazis deu ordens para que os homens destroçassem e preparassem as tendas para a noite e depois encaminhou os seus oficiais até ao guarda-chuva para uma troca
formal de cumprimentos.
- Boa hora para chegarem, meus caros! - atirou o coronel aos recém-chegados. - Estávamos a ponto de colocar o selo de lacre neste desagradável assunto.
- Que quer dizer, senhor? - perguntou o capitão Des Mazis.
- Ora bem, apanhámos os patifes responsáveis pela revolta! Os meus homens deram com eles escondidos num depósito de carvão, esta tarde. Enxotaram-nos de lá para fora, e uns
sargentos deram-lhes até que confessaram. Apenas o que chegasse para um tribunal rápido ao som do tambor. Passei a sentença ainda não faz uma hora. Vão ser enforcados ao crepúsculo.
- Apontou com a cabeça para o outro lado da praça, onde estavam três homens acorrentados, de pé, junto de guardas armados. - Deve dar um bom divertimento depois do jantar!
- Deu uma gargalhada bem-humorada. - Um dos meus rapazes já está a aceitar apostas quanto a quem se aguentará mais tempo. O ossudo é o que oferece as probabilidades mais baixas.
O coronel presenteou os oficiais com um óptimo jantar, servido em longas mesas, colocadas à sombra das árvores. Os melhores vinhos e carnes
de Seurre foram apresentados aos convidados, mas, de onde estava sentado Napoleão tinha uma boa visão do outro lado da praça, onde se encontravam os condenados e, por isso,
pouco proveito lhe fez a refeição. Quando o último prato foi levantado da mesa, alguns criados colocaram várias filas de cadeiras em frente ao carvalho centenário, situado
no pequeno parque, no centro da praça. Um sargento aproximou-se com três montes de corda de cânhamo, desenrolou-os e passou-os por cima do ramo forte que se projectava do
tronco do carvalho. Depois, começou a fazer os nós nas pontas das cordas pendentes do seu lado.
O coronel levantou-se da mesa e chamou os outros oficiais para se lhe juntarem; a seguir, encaminhou-se lentamente para o carvalho e sentou-se no meio da primeira fila, em
frente aos três nós. Ao seu redor, os outros oficiais foram-se sentando, e, quando tudo estava pronto, o coronel fez um sinal com a cabeça ao seu adjunto, que gritou para
a praça.
- Tragam os prisioneiros!
Os três homens foram obrigados a mexer-se, e, meio a cair, meio a tropeçar, caminharam para o local da execução. Ao aproximarem-se, Napoleão reparou que tinham as caras marcadas
com nódoas negras e cortes e que um deles tinha um braço seguro por um suporte à volta do pescoço arranjado à pressa. Sentiu um enjoo de náusea a subir-lhe pela garganta,
enquanto observava cada homem a ser colocado na respectiva posição, por detrás do nó. Depois, o sargento pôs-lhes as cordas ao pescoço e ajustou os nós corrediços, de modo
a que estes ficassem posicionados na nuca e alinhados com a coluna. Um esquadrão de soldados marchou até ao local, e quatro homens ficaram em cada corda. Pegaram nas pontas
e permaneceram imóveis, esperando a ordem para continuar. O sargento olhou para o adjunto, pedindo permissão para prosseguir, e recebeu um aceno de cabeça afirmativo.
- Algum dos condenados deseja dizer as últimas palavras? - perguntou o sargento.
Napoleão percorreu os condenados com o olhar. Um tremia sem parar, e os seus queixumes eram claramente audíveis. Ao lado, um homem alto e magro mantinha-se imóvel, olhando
desafiador para os oficiais à sua frente. Apenas o derradeiro homem abriu a boca.
- Isto não é o fim! - gritou. - Este é o primeiro passo em direcção à liberdade e à igualdade! Podem matar-nos, mas não podem matar aquilo por que lutamos. - Virou-se para
os soldados, que seguravam a corda atrás de si. - Irmãos, porque fazem o trabalho sujo dos aristocratas? Estamos do mesmo lado. Eles são o inimigo. Eles...
- Já ouvi que chegasse! - berrou o coronel. - Prossigam!
- Pelotão de execução! - gritou o adjunto, erguendo o braço. - Preparar!
Os soldados pegaram nas cordas com força e colocaram as pernas abertas em posição de equilíbrio. O chefe dos rebeldes respirou fundo e começou a gritar.
- Liberdade! Liberd...
O adjunto deixou cair o braço.
- Puxem!
Os soldados puxaram as cordas, e os três homens foram levantados do chão, ficando com os pés no ar. Ouviram-se suspiros e alguns risos nervosos entre os oficiais, enquanto
os condenados se iam debatendo, contorcendo-se e pontapeando freneticamente, à medida que os nós se apertavam à volta do pescoço e os estrangulavam. Os rostos deformavam-se
agonizantes, ao tentarem respirar com assobios roucos. O líder foi o primeiro a morrer, de olhos esbugalhados e língua negra e inchada a cair-lhe dos lábios. O homem mais
alto foi o último, desistindo da luta alguns minutos após os seus camaradas. Os três corpos, lentamente, pararam de estremecer e, por fim, ficaram imóveis.
Os homens do regimento de artilharia permaneceram em Seurre cerca de duas semanas mais. Napoleão diariamente comandava patrulhas nas ruas silenciosas. O único sinal de que
a agitação continuava eram as frases escritas todas as noites nas paredes, que eram lidas cada manhã. A mensagem mais frequente era simplesmente: Liberdade! Igualdade! Napoleão
estremecia ao recordar a diversão do coronel na primeira noite que passara em Seurre. Os corpos permaneciam pendurados na árvore, como exemplo para os trabalhadores de Seurre.
Estavam guardados, para que nem a família nem os amigos os pudessem reclamar, cortar as cordas e enterrá-los decentemente. No meio do ar quente do Verão, a decomposição depressa
tomou conta dos cadáveres; o odor pestilento impregnava o centro da praça, chegando a outros locais transportado pela brisa nocturna, quando havia vento.
Vieram notícias de Paris. O impasse que impedira o parlamento fora resolvido. O Terceiro Estado tinha convencido membros suficientes do clero do Primeiro Estado e alguns nobres
do Segundo Estado para poder declarar-se Assembleia Nacional com autoridade legislativa. O filho do rei morrera após uma longa doença, no início de Junho, e o rei e a rainha
estavam tão abalados com o desgosto que pouco tinham feito para impedir o aumento rápido do poder do Terceiro Estado. O país preparava-se para a batalha inevitável entre a
vontade do rei e a da nova Assembleia. Havia relatos de que mais de vinte regimentos estavam acampados perto de Versalhes, à espera de ordens para esmagar a Assembleia e dispersar
a multidão que se tinha juntado no exterior do palácio real a apoiar os representantes do Terceiro Estado.
O capitão Des Mazis conduziu o destacamento de volta a Auxonne na tarde de 18 de Julho. Tornou-se de imediato aparente que algo de significativo tinha ocorrido. As ruas estavam
cheias de pessoas a discutir animadamente, que se desviaram para deixar a coluna passar.
- Mantenham os homens em movimento! - gritou o capitão Des Mazis da frente da coluna. - Todos de volta ao quartel, o mais depressa possível.
Alexandre segurou as rédeas do cavalo e esperou por Napoleão para se incorporar de novo na coluna.
- Que se passará? Nem imagino!
- Talvez tenha acontecido alguma coisa em Versalhes - disse Napoleão.
Alexandre fitou-o, com os olhos arregalados de excitação:
- O rei deu ordem para esmagarem a Assembleia Nacional. Aposto que foi isso.
- Depressa saberemos.
Quando o destacamento chegou ao quartel e marchou através dos portões, um tenente jovem apareceu a correr vindo de dentro. Fez continência ao capitão Des Mazis e transmitiu-lhe
as ordens, muito excitado e ofegante.
- O coronel envia cumprimentos, senhor. Todos os oficiais se devem apresentar no comando imediatamente.
- De imediato? Mas acabámos de regressar de Seurre.
- De imediato, senhor.
- Muito bem. - O capitão Des Mazis virou-se na sela e gritou uma ordem ao destacamento. - Destroçar! Cabo, o comando é seu!
Os três oficiais marcharam apressados pela parada fora até ao edifício de comando. Lá dentro, o salão principal estava cheio com os restantes oficiais do regimento e da escola
de artilharia. Napoleão caminhou em direcção ao general Du Tiel.
- Senhor, queira desculpar.
- Ah, Buona Parte. Notícias péssimas, não são, meu rapaz?
Napoleão abanou a cabeça.
- Que aconteceu, senhor?
- De Paris...
Antes que o general pudesse continuar, houve uma agitação ao fundo do salão, e as cabeças viraram-se para ver o coronel a aparecer vindo de uma porta lateral, e a caminhar
apressado até uma pequena plataforma. A seu lado estava um jovem oficial, de aspecto cansado e sujo, aparentando ter cavalgado durante dias. Um silêncio expectante caiu sobre
o salão, enquanto os oficiais olhavam para o coronel e esperavam que falasse. Ele pigarreou
e respirou fundo. A sua voz ressoou sobre a assistência, transmitindo ansiedade no tom forçadamente neutro da comunicação.
- Senhores, este é o tenente Corbois da Guarda Suíça. Veio directamente de Versalhes com um despacho do ministro da Guerra. - Voltou-se para Corbois e fez-lhe um gesto para
que avançasse. - É melhor que lhes dê a notícia.
- Sim, senhor. - O tenente Corbois acalmou-se um pouco e começou a falar. - Há quatro dias, no dia catorze, a populaça de Paris assaltou a Bastilha. Mataram a maior parte
da guarnição, assassinaram o director e levaram todos os mosquetes e pólvora que havia nos paióis. Quando parti de Versalhes, o rei estava a preparar a ordem para o general
Broglie marchar sobre Paris. Senhores! - A voz do tenente Corbois falhou, e ele teve de fazer uma breve pausa para a aclarar. - Senhores, receio que a França entre em guerra
com ela própria a qualquer momento.
Capítulo 52
Nos dias que se seguiram à queda da Bastilha, os oficiais do regimento de La Fère esperaram pelo despacho para marcharem contra as comunas de Paris e restaurarem a ordem.
Mas nada chegou e, para espanto de todos, parecia que o rei tinha simplesmente aceitado a tomada da prisão e a matança dos membros da guarnição. A crença de que a autoridade
real se tinha rendido à populaça espalhou-se por França como a peste.
Poucos dias depois da queda da Bastilha, uma revolta eclodiu em Auxonne. Uma multidão destruiu as portas da cidade, percorreu as ruas até à repartição dos impostos e saqueou-a,
sovando intensamente os poucos funcionários que tinham tentado negar-lhe entrada no edifício. O coronel do regimento de artilharia tinha ordenado que um destacamento dos seus
homens ajudasse a reforçar as fileiras dos guardas-civis locais, para que, em conjunto, controlassem os arruaceiros. Mas logo que os soldados receberam as ordens, recusaram-se
a marchar contra o povo da cidade. Esses homens ficaram confinados ao quartel de imediato, e outra companhia de soldados de maior confiança foi enviada no lugar deles. A multidão
foi dispersada com rapidez, e a ordem foi restaurada em Auxonne, mas o mau ambiente permaneceu no quartel.
Napoleão, mais ligado aos sentimentos dos soldados rasos do que aos dos oficiais, sentiu-o instantaneamente. Embora a rotina diária continuasse, os homens levavam mais tempo
a obedecer às ordens. A postura deles tornou-se ostensivamente mais rabugenta, e o número de queixas acerca das instalações, da comida e do pagamento passou do habitual chover
no molhado a uma enxurrada de notas escritas apresentadas ao coronel atra-
vés dos sargentos. Depressa as queixas passaram a exigências, e o coronel, ciente do destino do director da Bastilha, começou a acrescentar a espada ao uniforme, dentro do
quartel.
Foi então que, num dia escaldante de Agosto, enquanto Napoleão escrevia o inventário das munições do batalhão, apercebeu-se de vozes que discutiam alto no meio da parada.
Não eram as usuais imprecações de um sargento a treinar os seus homens, mas uma gritaria muito mais furiosa e exasperada. Pousando a pena, Napoleão ergueu-se da secretária
e atravessou o gabinete de logística para poder olhar pela janela. Uma companhia de artilheiros estava de pé, à vontade, no meio da parada. Em frente deles, um sargento de
rosto vermelho gritava-lhes para se porem em sentido. Como ninguém se mexeu, o sargento foi ter com o homem mais próximo e gritou-lhe a ordem de novo. O soldado olhou para
os camaradas e abanou a cabeça.
- Estás a desafiar-me, não é? Grande estupor emproado!
O sargento pegou no bastão para bater na cara do homem, mas, antes que o golpe caísse, outro soldado avançou e atingiu o estômago do sargento com a coronha do mosquete. Este
dobrou-se, parou de respirar e caiu de joelhos. O assaltante levantou o pé e deu um pontapé com a bota no sargento, que o fez tombar de costas; depois, virou-se para os camaradas.
- Vamos, rapazes! Chegou a hora de apresentarmos as nossas queixas ao coronel em pessoa.
- E se ele não nos ligar? - gritou um soldado.
O primeiro homem sorriu.
- Oh, ele vai ouvir-nos desta vez; se é que sabe o que é melhor para ele. Vamos! Para o comando!
Napoleão sentiu-se enojado com o que acabara de presenciar. Aquilo era um motim, praticamente a pior ofensa que um soldado podia cometer. O castigo era a morte. Aqueles homens
deviam saber disso e, sabendo-o, não teriam piedade.
- Merda!...
A mente de Napoleão trabalhava a toda a velocidade. Que diabo devia ele fazer? Agarrou no casaco e no chapéu, na esperança de que a aparência formal ainda pudesse ter algum
peso de autoridade naqueles homens. Caminhando apressadamente, foi ao encontro do sargento no meio da parada. Os últimos soldados estavam ainda a deixar a parada, seguindo
o líder para o edifício do comando, e quando se aproximou deles, eles fitaram-no hesitantes. Napoleão fez continência, e, instintivamente, o soldado mais próximo endireitou
as costas e ergueu o braço para responder, mas um dos colegas agarrou-lhe na mão.
- Isso acabou por aqui! Percebeste?
O soldado anuiu, ainda a olhar com ansiedade para Napoleão, mas o
jovem oficial ignorou-o e inclinou-se sobre o sargento prostrado no chão. Ao lado, ouviu o soldado que tinha interferido dizer.
- Venham daí!
Os soldados afastaram-se, calcando a gravilha e seguindo o resto da companhia. Napoleão olhou para o sargento. O homem deitara as mãos ao estômago e tinha dificuldade em respirar.
A cara estava pálida e contorcia-se numa expressão de agonia.
- Sargento, como se sente? Está bem?
O homem revirou os olhos e depois sussurrou por entre dentes.
- Foda-se... pareço-lhe estar bem... senhor?
Napoleão esboçou um sorriso.
- Desculpe. Precisa de ajuda?
O sargento abanou a cabeça.
- É só falta de ar... Avise o coronel, senhor... Vá. Agora!
Napoleão endireitou-se e olhou em redor. Os soldados já tinham
chegado aos degraus da entrada do edifício de comando e tinham confrontado as duas sentinelas que tentaram detê-los. Napoleão olhou para a messe dos oficiais, mas já outro
grupo de soldados se dirigia naquela direcção. Deixou o sargento e correu para os homens, gritando à medida que se aproximava.
- Para as casernas. Já!
Eles pararam ao som da voz e voltaram-se para Napoleão, que avançava para eles. Respirou fundo e procurou a sua voz de comando mais forte, quando se lhes dirigiu de novo.
- De volta às casernas! É uma ordem! Obedeçam! Já!
Ninguém se mexeu. Depois, um dos soldados deu um passo hesitante na direcção do jovem oficial.
- Senhor, nós conhecemo-lo. Não é um daqueles cavalheiros aperaltados que se dão a todo o tipo de ares. Devia estar do nosso lado. Não do lado deles.
- Chega! - Os olhos de Napoleão arderam de fúria ao enfrentar o soldado. - Voltem para as casernas, imediatamente!
- Lamento, senhor. - O homem abanou a cabeça. - Isso não vai resultar. Os rapazes têm muitas queixas. Concordámos em não obedecer a mais ordens até termos o que queremos.
- Terem o que querem? - Napoleão repetiu espantado. - Onde raio pensam vocês que estão? Isto é a porra da tropa, não é um clube reivindicativo. Não torno a repetir. Voltem
para as casernas.
O homem abanou a cabeça de novo e afastou-se de Napoleão.
- Venham rapazes. Sigam-me.
Enquanto os homens passavam por ele, mantendo uma distância de
respeito, de modo a evitar baterem-lhe acidentalmente quando passassem, Napoleão abriu a boca para gritar a ordem de novo. Mas ele sabia que não valia a pena e, por isso,
fechou a boca, apertando-a numa desagradável linha fina, enquanto observava os amotinados. Que teria adiantado, para além de fazer figura de parvo, se tivesse tentado resistir?
interrogou-se. Nada que pudesse dizer os pararia, e amaldiçoou-se por não possuir a força de personalidade que os obrigasse a fazer o que ordenara. Com uma sensação doentia
nas entranhas, Napoleão seguiu-os devagar, sabendo que o seu dever era ficar do lado dos outros oficiais nesta confrontação.
Logo que descobriram o coronel, os soldados exigiram que ele abrisse o cofre que continha os fundos monetários do regimento. Com o dinheiro distribuído, os soldados serviram-se
dos vinhos e outras bebidas alcoólicas existentes na messe dos oficiais, antes de irem para a cidade gastar o dinheiro roubado em ainda mais bebida. Quando chegou a noite,
regressaram ao quartel com barris de cerveja e forçaram os oficiais a beberem e a dançarem com eles. O coronel, claramente com medo de que a atmosfera se tornasse ruim a qualquer
momento, deu ordem aos seus oficiais para alinharem com os soldados. E assim foi, durante toda aquela noite quente e húmida, e a festa só terminou quando os soldados entraram
em coma alcoólico.
Levou mais um dia até que os efeitos da bebida passassem e os homens retornassem às suas tarefas lentamente. O coronel tornou claro que não se queria dirigir aos amotinados,
e os soldados agradecidos voltaram sem delongas à rotina diária, sob os olhares desconfiados dos oficiais. Porém, Napoleão já vira o suficiente. Todas as velhas tradições
do regimento, todo o treino e aplicação de disciplina, tudo isso o motim da bebedeira havia tornado despropositado. Conseguia prever que, daí em diante, a vida na guarnição
de Auxonne estaria empestada pelo mesmo caos, incerteza e perigo que consumia Paris.
Na manhã seguinte, Napoleão foi chamado ao gabinete do coronel. Perfilou-se em sentido em frente da secretária do coronel, e este recostou-se na cadeira. Por detrás dele,
em cima de uma pequena escrivaninha, Napoleão viu um par de pistolas. Então, já tínhamos chegado a isto, concluiu. Os oficiais já se estavam a armar por causa dos soldados.
O coronel parecia cansado e não fazia a barba há dois dias e, por isso, quando coçou o queixo e fitou Napoleão, ouviu-se um som nítido de algo a ser raspado.
- Vou mandá-lo de licença. Vai regressar à Córsega.
- Senhor? - Napoleão não pôde esconder a surpresa. - Porquê? Não entendo.
- Não lhe estou a pedir que perceba, tenente. É uma ordem. Fará o que lhe mando e partirá de licença.
- Mas, porquê, senhor? Certamente que sou preciso aqui.
O coronel fixou os olhos nele por instantes; depois, cedeu e encolheu os ombros, resignado.
- O senhor é um bom oficial, Buona Parte. Eu sei disso. Mas obedeço a ordens do Ministério da Guerra.
- Que ordens, senhor?
- Enviar para licença todo e qualquer oficial cuja lealdade ao rei levante suspeitas. Consultei o capitão Des Mazis, e ele não tem dúvidas da sua simpatia pelos radicais.
Assim sendo, não me resta outra alternativa senão enviá-lo de licença.
As maçãs do rosto de Napoleão coraram de vergonha e de indignação.
- Isto é um ultraje, senhor! Protesto! Eu...
O coronel ergueu a mão para o mandar calar.
- O seu protesto fica anotado. Está dispensado. Vá fazer as malas, Buona Parte. Quero-o fora do quartel no final do dia.
Napoleão olhou-o de novo e depois engoliu em seco.
- Quando poderei regressar ao serviço, senhor?
- Quando o chamarmos, tenente.
Capítulo 53
Logo que as notícias acerca da tomada da Bastilha chegaram a Dublin, Arthur enviou uma carta cheia de ansiedade ao seu mentor na Academia em Angers. Marcel de Pignerolle não
respondeu à carta de Arthur até muito mais tarde nesse ano. Agradecia ao antigo aluno por perguntar pela sua saúde e segurança e assegurava-lhe que os acontecimentos em Paris
não tinham conseguido causar um impacto significativo na vida em Angers, até então. Alguns estudantes tinham sido retirados, e o director considerava aconselhar os que tinham
ficado a que regressassem para junto das famílias, enquanto a vida pública em França se encontrasse convulsionada. Podiam retornar depois à academia, se as coisas se acalmassem,
embora ele tivesse poucas esperanças de que o rei e os deputados da nova Assembleia Nacional caíssem em si e abandonassem aquela experiência louca de democracia radical que
parecia ter infectado o coração da gentalha de Paris.
A queda da Bastilha e as suas repugnantes consequências pareciam ter acordado o povo para o perigo de a situação ficar fora do controlo. O Rei Luís tinha ordenado sensatamente
que os regimentos, que se tinham reunido a pouco e pouco ao redor de Paris, regressassem aos quartéis. Em Outubro, numa tentativa de afastar alguma da tensão entre o povo
de Paris e os deputados, que representavam o país inteiro, reunidos em Versalhes,
o rei e a Assembleia Nacional mudaram-se para o palácio das Tulherias, no coração de Paris. Marcel de Pignerolle aprovava esta medida, mas não podia deixar de se interrogar
se o rei não teria sido um pouco insensato ao confiar na protecção das unidades da guarda nacional de Paris, que pareciam só responder perante as autoridades municipais.
Com a vida na academia nesta fase forçosamente calma, o director tinha aproveitado a oportunidade para visitar alguns parentes em Paris, acompanhado da mulher, e estava perturbado
com as mudanças ocorridas desde a visita anterior. E aqui, notou Arthur, o tom da carta mudava para uma descrição dos acontecimentos mais séria e mais ansiosa.
Meu caro Arthur, mal pode imaginar a alteração nos modos civis do povo comum. Desde que a chamada Assembleia Nacional publicou a sua Declaração Universal dos Direitos do Homem,
em Agosto, o homem comum tomou esta declaração como permissão para se desculpar de todos os possíveis comportamentos de incivilidade e imoralidade. Os bairros de Paris só
respondem perante eles próprios, e os demagogos mesquinhos são livres de incitar os sentimentos mais baixos da manada para que as hordas pilhem as propriedades de mercadores
e padeiros inocentes, ou espanquem até à morte, ou enforquem aqueles que eles proclamam serem inimigos do povo. Mas, se as multidões de Paris são pouco mais do que bárbaras,
elas seguem a liderança dos representantes da sua classe na Assembleia Nacional. Casa de maior venalidade e de inveja mesquinha e ambição mais desenfreada é difícil de conceber.
Reúnem-se naquilo que era antes o picadeiro das Tulherias, e não podemos deixar de nos interrogar se os anteriores ocupantes do edifício não seriam mais bem-educados e com
melhores modos do que estas bocas porcas do Terceiro Estado. Pior ainda, claro está, são aqueles com berço que traem a sua classe, que abandonaram o Primeiro e o Segundo Estados
para descerem ao nível do Terceiro.
Foi apenas com o seu apoio que os demagogos conseguiram retirar todo o tipo de privilégios à nossa classe e despiram a Igreja do direito de ser sustentada financeiramente
pelo povo. É este miserável ateísmo nos corações daqueles que estão a destruir a velha ordem que maior desgosto me dá. O que está a acontecer é muito mau, e rezo para que
a maioria do povo se aperceba das trevas que se estão a acumular e que reaja contra elas, antes que seja demasiado tarde.
Arthur, receio que não tornaremos a ver os bons velhos tempos. A nossa classe vacila na margem do oblívio em França. Aprenda com o nosso fado efaça o que puder para assegurar
que tudo
o que é belo e bom na nobreza inglesa seja poupado ao destino da
França.
O seu amigo, Marcel de Pignerolle.
Arthur dobrou a carta e colocou-a em cima da secretária. Voltou-se e olhou pela janela, sobre os telhados de Dublin, que brilhavam sob os aguaceiros que estavam a cair na
cidade desde o início de Dezembro. Há mais de duas semanas que não via o azul do céu. Quase três anos tinham passado desde que assumira o posto de ajudante no castelo de Dublin.
Continuava a ser um mero tenente, com poucas hipóteses de promoção no exército e ainda menos hipóteses de progressão fora dele. A vida social desregrada dos jovens oficiais
fora do castelo já pouco o atraía. Já se fartara de estar bêbedo, de andar à procura de sarilhos e de se meter em trabalhos. As cortesãs dos melhores clubes pareciam-lhe todas
iguais: caras pintadas, com paixões tão verdadeiras quanto a maquilhagem, cuja conversa poucas vezes se estendia para além de banalidades e lembretes polidos acerca da natureza
pecuniária das suas relações com Arthur. Até os colegas o aborreciam. Jack Dançarino estava a caminho do encarceramento nupcial, enquanto Buck Whaley e os outros continuavam
a beber, a lutar em duelos, a fornicar e a fazer apostas pueris acerca dos resultados de qualquer uma das actividades anteriores.
Arthur era suficientemente honesto para admitir que havia muito prazer a ser gozado numa vida deste tipo, se se tivesse rendimento que chegasse para isso, de modo a que os
custos nunca se impingissem na diversão. Mas, no caso dele, o rendimento nunca chegava. As dívidas acabavam por submergi-lo inevitavelmente, a não ser que fosse mais responsável
nos assuntos financeiros, ou se concentrasse em desenvolver perspectivas de ganho. Nenhuma das opções o entusiasmava. Algo teria de ser feito em relação à situação e depressa.
Os seus pensamentos regressaram a França. Pela carta e outros relatos que tinha lido, parecia que o velho regime estava em queda, e que nenhuma força seria capaz de o evitar.
O povo tomara o controlo e empenhava-se em desmantelar todas as melhores e mais belas qualidades da sociedade, que tinham perdurado durante séculos. Que se seguiria a isto?
interrogava-se Arthur com amargura. Uma ordem social fundada nas características mais ignóbeis da humanidade. Como poderia ser de outra forma, agora que o poder estava nas
mãos de advogados, médicos, mercadores e outros demagogos comuns?
O que era ainda pior, ainda mais aterrorizador, era o aconchego fraterno que o povo da Irlanda parecia estar a receber da anarquia em França. Nas ocasiões em que Arthur se
sentara na galeria do parlamento irlandês
para assistir aos debates, tinha ficado horrorizado com as opiniões radicais expressas por alguns dos membros. Homens como Henry Grattan, que tinham apoiado medidas para que
as restrições aos católicos fossem removidas, defendiam agora abertamente as aspirações democráticas dos radicais franceses. O que estava a acontecer em França não era democracia,
mas poder da turba, facto que deixava alarmados aqueles que desejavam manter a ordem na Grã-Bretanha e na Irlanda. Grattan era um louco, concluíra Ar-thur. A Irlanda era um
barril de pólvora, graças às tensões que fervilhavam entre as classes, e ele temia as consequências. Cada vez que Grattan declamava um dos seus discursos inflamados em público,
Arthur lembrava-se de Lorde Gordon. Esta não era a ocasião para provocar as autoridades e agitar as emoções reles do povo. Reformas, se estivessem para existir, deviam aguardar
por tempos menos turbulentos, quando cabeças mais frias pudessem debater as questões de maneira responsável. Caso contrário, haveria insurreições, e o sangue dos inocentes
mancharia as mãos de Grattan e dos seus seguidores quando o governo fosse obrigado a usar a força para evitar a anarquia.
Arthur decidiu fazer companhia a William na casa da família, em Merrion Street, no Natal. A refeição foi uma ocorrência compreensivelmente muda, e depois de o prato final
ter sido comido, e de os pratos terem sido removidos por criados silenciosos, os dois irmãos sentaram-se numas poltronas próximas do brilho ondulante do fogo da lareira e
abriram uma garrafa de brandy. William recostou-se e olhou para a cor de âmbar dentro do seu copo.
- Como já te tinha dito, decidi seguir o caminho de Richard e ir para o parlamento inglês. Lá há mais perspectivas para um homem promissor como eu. De facto, qualquer homem
com ambições de serviço ao Estado ao mais alto nível deve seguir para Inglaterra. Deves ter isso em mente, quando for altura. Há poucas hipóteses de se conseguir alguma coisa
significativa na Irlanda. Mas serve como treino adequado para homens com os olhos postos no futuro. Por isso mesmo, penso que deverias ser o deputado por Trim, quando eu deixar
o lugar.
- Eu? - Arthur estava divertido. - Eu, membro do parlamento?
- Porque não? O lugar tem sido da família desde há muitos anos. Não faz sentido abandoná-lo já. Para além de que, no corrente clima em ebulição, os eleitores ainda se podem
sentir tentados a eleger o raio de algum radical. Não é uma actividade muito exigente, Arthur. Mesmo tu darás conta dos nada gravosos deveres de um membro do parlamento. Só
tens de aparecer para votar por aqueles que apoiam a Coroa e o magistrado. Vocaliza o teu apoio e sê áspero quanto baste para todos os que se opõem aos homens do rei, e vais
dar-te bem. Se te mantiveres por um par de anos no
lugar, serás recompensado com uma ou outra sinecura como contrapartida. Pode não ser grande coisa, mas será o suficiente para manter os cobradores de dívidas à distância.
Falando disso, como também te disse antes, talvez te queiras mudar para aqui, quando eu for para Londres. Então, diz-me lá, achas que te aguentarias neste ofício?
Arthur pensou por um momento. Parecia um projecto suficientemente atraente, algo que poderia proporcionar-lhe a mudança desejada e afastá-lo do crescente aborrecimento em
que se transformara a sua existência como oficial da Corte do magistrado no castelo de Dublin. Sabia-se lá; talvez a política fosse interessante. Olhou para o irmão e sorriu.
- Muito bem. Alinho.
- Óptimo. - William ergueu o copo. - Ao próximo membro do parlamento por Trim.
Capítulo 54
Os acontecimentos desenrolaram-se bastante mais depressa do que ele contava. William anunciou a sua resignação do parlamento no início do novo ano de 1790, e a eleição foi
convocada para o final de Abril. Arthur requereu, e foi-lhe concedida, licença para concorrer ao lugar e partiu para Trim.
A chuva da estação invernosa tinha transformado a superfície das estradas num mar de lama, de forma tão profusa que, em muitos locais, era difícil saber onde acabava a estrada
e os pauis circundantes começavam. Demorou três dias a percorrer cinquenta e seis quilómetros até Trim, e Arthur chegou cansado e ansioso por um banho quente e uma boa noite
de sono. Através da janela da carruagem, suja com salpicos de lama, a cidade mercantil pareceu-lhe sombria e nada aprazível na chuva gelada. Nuvens negras amontoavam-se no
céu até à linha cinzenta esbatida dos montes no horizonte. Arthur não tornara a visitar a cidade desde a infância e ficou surpreendido com o facto de a sua memória não ser
conforme com o que via agora naquela localidade pequena e desagradável. A carruagem parou à porta da grande estalagem na praça da cidade, e, puxando a capa para cima e apertando-a
à volta do pescoço, Arthur desceu e correu para o interior da hospedaria, deixando a bagagem a cargo dos dois rapazes que tinham emergido no pátio para ajudar o cocheiro.
O estalajadeiro fechou a porta atrás do seu novo hóspede e inclinou a cabeça numa saudação.
- O senhor desejará um quarto?
- Sim. O melhor que tiver, por favor.
- Ah, bem. Aí temos um problema, senhor. - O hospedeiro es-
boçou um sorriso. - Sabe, é que o melhor quarto já está alugado. A um cavalheiro de Dublin.
- Ah, sim? - Arthur pensou que talvez conhecesse o homem. - E quem é ele?
- O outro cavalheiro? Um senhor Connor O'Farrell, senhor.
- O'Farrell? - O nome era familiar, mas Arthur não conseguia identificá-lo. - Não tem importância. Talvez eu possa ficar com o quarto quando o senhor O'Farrell se for embora.
O estalajadeiro abanou a cabeça.
- Não me parece, senhor. O cavalheiro alugou o quarto por algumas semanas. Mas tenho a certeza de que terei outro quarto que o satisfaça, senhor.
Arthur não estava com disposição para discutir. Aliás, poderia falar com o homem, o tal O'Farrell, mais tarde e apelar ao seu bom coração com uma bebida à frente.
- Oh... está bem, então.
O estalajadeiro conduziu-o por uma escadaria antiga, que estalava sob o peso dos passos como as madeiras de um navio num mar tempestuoso. No topo das escadas havia uma galeria
larga para a qual davam perto de uma dúzia de portas. Conduziu Arthur até uma, ao fundo da galeria, que dava para um quarto grande e confortavelmente mobilado, com a janela
virada para a praça do mercado. A janela estava flanqueada por uma pequena escrivaninha, num lado, e por um velho baú, no outro. Enquanto Arthur olhava em redor, o hospedeiro
olhava para ele esperançado.
- Por agora, serve.
O homem sorriu e descontraiu-se, deixando descair um pouco os ombros.
- Muito bem, senhor. Vou mandar trazer as suas malas imediatamente.
- Óptimo. E quero tomar banho.
- Um banho, senhor?
Arthur olhou-o espantado.
- Tem uma banheira, não tem?
- Oh, sim, senhor. Vou já procurá-la e vou mandar os meus rapazes porem água a ferver.
- Bastará água quente. Não sou o raio de uma lagosta.
- Sim, senhor. - O estalajadeiro estava confuso. - Quero dizer, não, senhor. Vou já tratar disso.
Fez uma vénia, saiu do quarto e fechou a porta devagar, enquanto Arthur atravessava o quarto e se sentava nas almofadas do estreito assento da janela. As vidraças e a chuva
que corria em estrias do lado de fora distor-
ciam a vista da praça do mercado e faziam com que os edifícios do outro lado parecessem ter sido esculpidos em cera derretida. Uma mão-cheia de pessoas movia-se apressada
na praça enlameada, encolhidas debaixo dos casacos, com chapéus e cachecóis bem ajustados e apertados por cima das cabeças. Quando a escuridão desceu sobre Trim, as ruas iluminaram-se
com as luzes que brilhavam nas janelas da cidade, e Arthur correu as cortinas espessas antes de se vestir para jantar. Não obstante uma pequena fogueira a arder no suporte
da lareira, no canto do quarto, o ar estava frio e húmido, e Arthur vestiu rapidamente as suas roupas. Pelo menos, a água do banho estava bem quente, e ele tinha conseguido
estar reclinado na banheira com água até ao queixo e pudera relaxar-se no abraço quente do banho. Não que tivesse muitas oportunidades para isso nos meses vindouros, reflectiu,
enquanto colocava a gola à volta do pescoço e, com cuidado, metia as pontas no colarinho da camisa. William tinha-lhe transmitido a necessidade de conhecer o maior número
possível de pessoas, de arranjar reuniões públicas e de assegurar que o eleitorado ficava bem saciado de comida e de bebida, mas não com tanta bebida que ficasse incapaz de
votar quando chegasse a hora.
Arthur deixou o quarto e desceu as escadas que rangiam até ao hall de entrada. O estalajadeiro tinha-lhe indicado onde ficava a pequena sala de refeições reservada para os
melhores clientes, no lado oposto ao edifício da desordem barulhenta do bar público. Arthur ficou agradavelmente surpreendido, ao encontrar uma sala com paredes com painéis,
bem iluminada e com oito mesas pequenas colocadas de cada lado de uma grande lareira. Um homem estava sentado numa mesa e trinchava um pedaço de borrego. Era jovem, embora
uns anos mais velho do que Arthur, tinha cabelo escuro encaracolado e olhos azuis brilhantes. Um casaco largo pouco lhe ocultava o físico forte por debaixo. Deu uma olhadela
a Arthur, quando este entrou na sala, e sorriu.
- Tenente Wesley. Como está o senhor?
- Bem, obrigado, senhor. Mas estou em desvantagem.
- As minhas desculpas. Sou Connor O'Farrell, de Dublin. Reconheço-o do castelo.
- Sim? Lamento não poder reclamar a mesma familiaridade.
- Não tem importância. - O'Farrell sorriu. - Faz-me companhia à mesa? Receio sermos os dois únicos homens com algum nível social hospedados aqui, e seria uma pena jantarmos
sozinhos.
- Muito agradecido. - Arthur retribuiu o sorriso, puxou a cadeira em frente a O'Farrell e sentou-se. Uma pequena porta abriu-se num dos lados da sala, e o estalajadeiro entrou
de rompante e apressou-se a chegar à mesa. Fitou os dois hóspedes com ansiedade, antes de se dirigir a Arthur.
- Também deseja borrego, senhor?
- Que mais tem?
- Lombo de vaca assado e porco cozido.
- Porco cozido? - Arthur torceu o nariz. - Sendo assim, quero borrego. E que vinhos tem?
- Só resta o Madeira, senhor. - O estalajadeiro encolheu os seus ombros pesados, em sinal de pedido de desculpa. - A não ser que queira cerveja.
- Não. O Madeira está bem.
- Muito bem, senhor. - O homem voltou pelo caminho por onde viera. - Não vai demorar muito.
Quando ficaram de novo a sós, Arthur observou O'Farrell com atenção, e este último deu uma gargalhada:
- Está a tentar localizar-me.
- Sim.
- Sou advogado. Do mesmo escritório de um membro do parlamento, Henry Grattan. Penso que deve ter ouvido falar dele.
- Ouvi falar da reputação dele - respondeu Arthur - embora não possa afirmar que a aprove.
- Ah, sim?
O'Farrell meteu um pedacinho de borrego na boca e começou a mastigá-lo enquanto fitava Arthur, evidentemente à espera de algum tipo de elaboração.
- Sim, bem, sabe como é. Grattan é um bocado radical. Conto que compreenda o que quero dizer, já que partilham o escritório.
O
O'Farrell anuiu e engoliu a carne. Bebeu um gole de água do seu copo e tornou a falar.
- Grattan é, de facto, um radical. O que não lhe arranjou muitos amigos em Dublin. Pelo menos no castelo.
- E admira-se? Com toda aquela espuma que ele esguichou acerca das reformas e da inspiração que devíamos receber dos acontecimentos em França. O homem parece estar totalmente
cego quanto às águas perigosas em que os nossos vizinhos franceses estão a nadar.
- Mas não se pode culpar o homem de todo por usar o exemplo francês para arranjar apoios para as reformas aqui na Irlanda. Há muito que deviam ter sido levadas a cabo.
- Alguns até podem usar esse argumento - concedeu Arthur - mas Grattan é um oportunista, como todos os políticos profissionais. Será uma figura pública enquanto apelar aos
instintos mais desprezíveis do povo comum. Por isso, vai espremendo a raiva e a frustração das pessoas e usa-as para os seus objectivos. Se fosse um verdadeiro cavalheiro,
saberia que
o seu primeiro dever é para com o seu país. Devia apoiar o governo, não devia jogar com os desapontamentos do povo e não devia açoitá-lo até ficar fervoroso. Se saírem às
ruas, serão inocentes conduzidos ao matadouro. Conduzidos por Grattan. O homem não é digno de se sentar no parlamento. Pretendo tornar isso muito claro, quando tiver a minha
oportunidade de falar das bancadas do governo.
O'Farrell ergueu o sobrolho.
- Não sabia que era membro do parlamento.
Arthur fez um aceno com a mão.
- Ainda não sou, mas a seu tempo pretendo suceder ao meu irmão como deputado por Trim. Por isso estou aqui, para a eleição. Depois dela, pretendo responsabilizar o senhor
Grattan pela sua loucura, quando o enfrentar do outro lado do parlamento.
- Não vai precisar de esperar tanto. - O'Farrell abriu um largo sorriso. - Ele deve chegar a Trim no final de Fevereiro.
- Deveras?
- De certeza. O bom povo de Trim quer homenagear Henry Grattan com a entrega da Liberdade da Cidade2. Ele é uma espécie de herói entre o povo comum de Meath.
Arthur franziu o sobrolho. Era a primeira vez que ouvia falar na homenagem a Grattan. Então, o patife já estava a agitar a opinião pública para escapar à vontade das autoridades
de Dublin.
- Raios me partam se o tipo pensa que se safa dessa maneira!
- Porquê? Que pode fazer, senhor tenente?
- O berço da minha família é no castelo de Dangan. Posso reclamar o nosso lugar na direcção da corporação. Vou assegurar-me de que os outros membros vejam este Grattan como
a criatura abjecta que é. Isso é o que posso fazer. Pode custar-me uns votos, mas valerá a pena.
- Espero que sim - respondeu O'Farrell com um sorriso. Limpou os lábios ao guardanapo e puxou a cadeira para trás. - Por favor, queira desculpar-me, senhor tenente. Receio
ter assuntos a tratar amanhã bem cedo e quero verificar se todos os papéis estão em ordem.
- Com certeza. Mas antes de ir, há um favor que gostaria de lhe pedir, senhor O'Farrell.
- Ah, sim? Em que posso servi-lo?
- Tem a ver com os quartos. Sabe, é que eu vou permanecer em Trim até depois das eleições e precisarei dos melhores quartos que esta estalagem tem, para me reunir com os apoiantes
e receber convidados. Esse tipo de coisa. Estou certo que compreenderá.
2 - Equivalente a Membro Honorário da Corporação da Cidade. (N. da T.)
O'Farrell acenou com a cabeça, com um sorriso de simpatia.
- Sim, compreendo.
- Óptimo. - Arthur sentiu a sua disposição a melhorar. Afinal o homem sempre ia ser decente em relação ao assunto sensível e estranho que era a mudança de quartos. - Então,
estou certo que entenderá que faz todo o sentido trocarmos de quartos. Tenho a certeza de que os meus actuais aposentos serão perfeitamente adequados aos seus propósitos,
e de que eu farei bom uso dos quartos actualmente ao seu dispor.
- Ah, bem, lamento ter de o desapontar quanto a isso. - O'Farrell abanou a cabeça, com um rápido e apologético encolher de ombros, ao erguer-se da cadeira. - A verdade é que
eu também preciso dos quartos. Sabe, é que eu próprio espero ganhar o assento parlamentar por Trim. Desejo-lhe um resto de boa noite. - Deu a volta à mesa e deixou cair uma
palmadinha no ombro de Arthur, antes de se encaminhar para a porta. - Estou certo de que nos veremos fartas vezes nas semanas vindouras, tenente Wesley.
Arthur ficou pasmado a olhar para a cadeira vazia à sua frente, enquanto O'Farrell se afastava, com passos bem firmes. Quando a porta se fechou atrás do advogado de Dublin,
Arthur respirou a custo e sussurrou:
- O patife!
Capítulo 55
O salão da Câmara Municipal de Trim ressoou com as conversas bem-dispostas dos membros da corporação. Arthur parou, após ter entrado, e tentou adaptar a sua disposição ao
ambiente. Os olhos estremeceram quando detectaram os homens em pé, em frente da longa mesa à cabeceira do salão. Henry Grattan estava no meio deles: uma figura imponente,
que escutava atentamente os dignitários locais, que se aglomeravam à volta do famoso homem para melhor se banharem no reflexo da sua glória. Ao lado de Grattan estava Connor
O'Farrell, que fez um aceno rápido a Arthur, quando os seus brilhantes olhos azuis o detectaram do outro lado da sala. Arthur respondeu-lhe com um sorriso, mesmo que interiormente
fervilhasse.
A campanha para a eleição em Trim decorria há quase um mês, e estava claro que O'Farrell levava um bom avanço sobre o jovem oficial de Dublin. Quando Arthur viajava pelo município
para solicitar os votos dos munícipes com direito a voto na eleição que se aproximava, chegava quase sempre depois de O'Farrell e tinha de se esforçar muito para conseguir
apoios. Uma vez, quando Arthur organizara uma festa com muita cerveja a acompanhar o seu discurso aos votantes numa das estalagens de Trim, descobriu que o seu oponente tinha
oferecido um repasto ainda mais elaborado num bar vizinho e sem nenhum apelo longo e chato ao voto.
Agora encontravam-se na reunião formal da corporação em que seria decidido se era concedida a Liberdade da Cidade de Trim a Henry Grattan. O'Farrell tinha-se colocado à testa
do movimento para atribuir a distinção a Grattan e ia propor a moção a favor. Se ganhasse, então alcançaria projecção suficiente para vencer a eleição. Arthur sabia ser esta
a última hipótese para inverter a votação a seu favor. Respirou fundo e tomou a direcção do seu oponente e do convidado de honra.
- Senhor Grattan. Bem-vindo a Trim, senhor. - Estendeu-lhe a mão.
Henry Grattan voltou-se para Arthur e escrutinou-o com os seus pálidos olhos azuis. Em seguida, os lábios esboçaram um sorriso, e apertou a mão de Arthur com muita força e,
depois de um ligeiro abanão, manteve-a presa enquanto falava.
- Deve ser o jovem Wesley. Connor contou-me tudo a seu respeito. Parece que possui um faro especial para a política...
Enquanto os homens ao redor se esforçavam por conter o riso, Arthur manteve a expressão neutral.
- O senhor O'Farrell é um excelente juiz de carácter, e vou sentir a falta da sua rapidez de espírito quando entrar para o parlamento.
Grattan anuiu.
- Certamente que se daria bem por lá, Wesley. Mas primeiro tem de vencer o meu homem. - Colocou uma mão no ombro de O'Farrell e deu-lhe um apertão. - Não conte com os ovos
sem ter as galinhas, eh?
- Desde que não cacarejem quando eu ganhar, senhor. - Arthur fez uma vénia com a cabeça. - Agora, se me permite, tenho de ir para junto dos meus amigos.
Arthur afastou-se, e estava quase fora do alcance de audição, quando ouviu Grattan a murmurar.
- O tipo é gelo, Connor. Vais enfrentar um maior desafio do que o que pensas.
Os apoiantes dos Wesley cumprimentaram Arthur respeitosamente, e ele lembrou-lhes com calma que tinham de dar o máximo para ganhar a votação do dia. Se a Liberdade da Cidade
fosse entregue a Grattan, isso enviaria um sinal a toda a Irlanda de que o governo poderia ser abertamente desafiado.
Estavam presentes quase oitenta homens que eram elegíveis para voto. O partido de Arthur era quase metade desse total e podia contar ainda com mais alguns votos contra Grattan
dos membros mais independentes, que tendiam a apoiar as posições conservadoras sem um instante de reflexão. No entanto, tal era a fama de Henry Grattan, que Arthur foi surpreendido,
e ficou um pouco aborrecido, ao descobrir que até entre os seus apoiantes havia uns tantos que tinham anunciado que estavam a pensar apoiar a
proposta. Antes que Arthur pudesse argumentar com eles, o presidente da assembleia anunciou a presença do presidente da Câmara. A chegada do presidente da Câmara e da sua
equipa congelou as línguas, impondo um silêncio de respeito no salão. Logo que ele assumiu o seu lugar à cabeceira da mesa, fez sinal com a cabeça ao presidente da assembleia,
e este respirou fundo e dirigiu-se aos homens presentes.
- Senhores, por favor, tomem os vossos lugares.
Com sussurros abafados de conserva, os membros da corporação e os seus convidados encaminharam-se desordenados para as filas de cadeiras alinhadas em frente à mesa e, lentamente,
descortinaram os lugares onde se sentaram. Quando todos estavam sentados, o presidente da assembleia deu início à sessão e depois afastou-se para o lado da mesa e deu o lugar
ao presidente da Câmara. Este último era um mercador corpulento, vestido de puritano negro. A única concessão ao gosto liberal consistia nos brilhantes botões de metal do
casaco e no debrum discretamente bordado da gola. Ergueu a mão e tossiu.
- Como sabem, os membros da corporação estão reunidos para debater a atribuição da Liberdade de Trim ao senhor Henry Grattan. Esta distinção não é uma honra que seja concedida
com ligeireza, e estou certo de que os membros da corporação estão cientes de que a proposta deve ser intensamente discutida antes de passarmos à votação...
O presidente da Câmara continuou a elaborar acerca do significado do processo durante os dez minutos que se seguiram, e a atenção de Arthur rapidamente se desligou do caso,
enquanto ele prosseguia numa voz monótona. Tinha tentado preparar-se para a reunião, mas era impossível decidir acerca de uma estratégia de retórica até ter ouvido a exposição
do caso, que ia ser apresentada aos membros pelo preponente de Grattan, Connor O'Farrell. E, no entanto, tanta coisa dependia da sua resposta, inclusive as hipóteses de sucesso
na eleição que se avizinhava. O presidente da Câmara terminou a introdução e fez sinal a O'Farrell para iniciar o debate.
O advogado de Dublin levantou-se e encaminhou-se para o espaço livre entre a mesa do presidente da Câmara e os assentos dos ouvintes. Enfiando os polegares no colete, endireitou-se
até ao máximo da sua altura imponente e começou a apresentar o senhor Grattan, fazendo uso de um exemplo-modelo de argumentação legal bem treinada. O'Farrell começou com um
encómio ao grande município de Trim e à inestimável honestidade e indústria dos seus votantes. Depois de alguns minutos disto, o senhor Grattan tossiu alto e bom som e fez
sinal com a cabeça ao seu proponente para parar de dourar a pílula e ir direito ao assunto. O'Farrell obedeceu de imediato, apresentando Henry Grattan, resumindo a sua carreira
e depois desenvolvendo o tema principal: a respeitabilidade daquele herói do povo.
Grattan, asseverava ele, não tinha apenas ganhado o respeito do homem comum, mas tinha conquistado um respeito muito mais vasto, para além das ilhas britânicas, em França,
onde nesse mesmo dia o exemplo de Grattan era citado nos grandes debates acerca da democracia que estavam a ter lugar no salão sacro da Assembleia Nacional. Ouviu-se uma cascata
de sons de aprovação na assistência, e Arthur olhou ansioso para os seus apoiantes e ficou chocado ao constatar que alguns demonstravam um entusiasmo assumido por O'Farrell.
Por fim, O'Farrell concluiu a sua actuação com nova onda de elogios dirigida directamente ao eleitorado de Trim e terminou com uma elaborada vénia à audiência. De imediato,
os membros da corporação explodiram em aplausos, e, a bem das regras de conveniência, Arthur juntou-se a eles. O presidente da Câmara esperou que regressasse o silêncio total,
antes de olhar à roda do salão:
- Alguém se quer manifestar contra a proposta?
Arthur engoliu em seco e depois ergueu a mão.
- Senhor, se me é permitido?
O presidente da Câmara apurou a vista na direcção de Arthur e depois respondeu:
- A mesa reconhece o distinto senhor Arthur Wesley.
Arthur levantou-se da cadeira e percorreu a estreita passagem entre o auditório e a parede. O'Farrell cedeu-lhe o lugar em frente à assistência e regressou ao seu assento
ao lado de Henry Grattan. Ordenando rapidamente os pensamentos na sua mente, Arthur fixou as caras que o observavam. Detectou alguma hostilidade, mas a maioria parecia surpreendida
pela intervenção e aguardava agora, atentamente, para ver o que tinha o jovem para oferecer.
- Antes de qualquer outra coisa, quero dizer que o meu respeito pelo nosso convidado é tão grande quanto o de qualquer outro homem aqui presente. De facto, desde que tive
a oportunidade de seguir os sucessos parlamentares do senhor Grattan, senti-me inspirado pelo seu exemplo. Tanto assim é, que estou aqui perante vós como candidato aspirando
a servir o bom povo de Trim, de forma tão bem sucedida e tão respeitosa como o senhor Grattan serve os eleitores que representa.
Arthur viu alguns membros a anuírem e sentiu dentro do coração o quente brilho do contentamento no início da sua actuação. Fez uma breve pausa, para usufruir do efeito, e
depois continuou.
- Estou certo de que o senhor Grattan continuará a desempenhar os seus deveres com a diligência que lhe é própria e que continuará a trabalhar para o desenvolvimento do povo
em cada minuto de vida com que o Todo-Poderoso esteja disposto a abençoá-lo.
Arthur foi recompensado com mais acenos de cabeça em sinal de aprovação.
- Um homem com a estatura política de Henry Grattan deve ser muito requisitado por aqueles que já representa. Como poderia ser de outra forma, dados os talentos com que foi
abençoado? Mas é aí que se encontra a grande tragédia para os membros desta corporação...
Os assentimentos pararam, substituídos por alguns rostos franzidos e preocupados.
- Se não queremos atrasar a continuada persecução de objectivos da parte de Henry Grattan, não devemos sobrecarregá-lo com a Liberdade da corporação. Cada reunião a que o
senhor Grattan fosse obrigado a assistir, aqui em Trim, iria desviá-lo das suas obrigações para com outros homens. Senhores, estará certo sermos tão egoístas, que exijamos
tanto do tempo deste grande homem? Senão, quem mais poderia espalhar o radicalismo em segunda mão, que é o verdadeiro negócio do senhor Grattan? Quem somos nós para negar
à Irlanda os bons ofícios deste homem? Mas, talvez... - Arthur mudou a sua expressão para a de alguém que acabasse de fazer uma extraordinária descoberta. - Talvez seja precisamente
por isso que devemos oferecer ao senhor Grattan a Liberdade de Trim! Porque, senhores, poderemos amarrá-lo aqui com tão onerosos deveres civis, que ele já não estará livre
para espalhar pelo resto da Irlanda os seus perigosos sentimentos revolucionários. Estou certo de que o senhor Grattan não nos agradeceria pelo enorme aumento dos seus trabalhos.
A maior parte da audiência sorria agora; mas uns tantos ainda se enfrentavam com a veia de ironia demasiado rica que Arthur começava a desvelar.
- É, portanto, no respeito pelo auditório mais vasto do senhor Grattan e dos seus mestres revolucionários em França que gostaria que os membros considerassem a oferta desta
honra ao senhor Grattan. Gostaria que todos reflectissem nas consequências do que decidirem hoje. Devemos recompensar aqueles que destruirão as grandes tradições da nossa
nação? Pensem nisso, com o máximo cuidado e precaução.
Arthur deixou que as palavras assentassem antes de continuar, num tom mais leve.
- Deixando tudo isto de lado, tanto quanto posso discernir da proposta do senhor O'Farrell, a única boa razão porque o senhor Grattan deveria receber a Liberdade da corporação
é a sua alegada... respeitabilidade. Bem, penso que perceberão a dificuldade inevitável de atribuir tal honra baseando-nos puramente no conceito de respeitabilidade. - Arthur
apontou para a assistência. - Tenho a certeza de que cada homem aqui presente está abençoado pela respeitabilidade. E, fora desta sala, quantos mais em Trim serão homens respeitáveis?
Porquê parar aqui? Dado que convidámos
para Trim o senhor Grattan e o seu amigo advogado de Dublin (ambos homens respeitáveis, disso estou certo), porque não estender o convite a todos os homens respeitáveis da
Irlanda? Sem dúvida que depressa teríamos uma nação de Homens-Livres de Trim!
A maior parte dos membros riu às gargalhadas, e, pelo meio destes sons bem-humorados, Arthur distinguiu também aplausos. Orgulhoso, retribuiu com um sorriso o apoio dos membros
da corporação. Permitiu-lhes aquela reacção por momentos e depois ergueu as mãos, pedindo silêncio, mesmo antes de o presidente da Câmara ter pegado no martelo.
- Cavalheiros! Cavalheiros! Por favor! Penso que agora todos percebemos porque devemos, infelizmente, rejeitar a proposta. Não seria justo para o senhor Grattan e também não
seria justo para todos os homens respeitáveis que merecem esta honra tanto quanto a merece o senhor Grattan. Por estas razões, sou obrigado a opor-me à atribuição da Liberdade
de Trim ao senhor Grattan... por maior que seja o meu respeito pelo senhor Grattan.
Com o ambiente a encher-se com mais gargalhadas, Arthur fez uma vénia graciosa com a cabeça e regressou ao lugar. O presidente da Câmara pegou no martelo e deu uma pancada
forte, repetida várias vezes, até que a ordem foi restabelecida, e a sala ficou de novo em silêncio.
- Muito obrigado, senhor Wesley. Vamos agora proceder à votação. Os que estão a favor da proposta, por favor...
Ergueram-se braços por toda a sala. Arthur viu, mas não se atreveu a contá-los. Voltou-se para o presidente da Câmara e observou como ele contava os votos, conferia com os
colegas da mesa, que o ladeavam, e anotava o total numa folha de papel à sua frente.
- Os que estão contra...
Arthur ergueu o braço e olhou em volta, verificando que mais braços se tinham erguido. O presidente da Câmara começou a contar, concordou com o total e depois tossiu alto
e bom som, antes de pronunciar o resultado.
- A favor da proposta, trinta e três. Contra, quarenta e sete!
Os apoiantes à volta de Arthur levantaram-se e festejaram, e ele sentiu alguém a dar-lhe um abanão de parabéns no ombro. Levantou-se com um sorriso e apertou as mãos a vários
homens da assistência que o tinham rodeado. No topo do salão, Henry Grattan tinha-se erguido do lugar e encaminhava-se pela ala em direcção a Arthur, com O'Farrell a seguir-lhe
os passos. À sua chegada, os membros da corporação à volta de Arthur retrocederam expectantes. Grattan dirigiu-se a ele com a expressão de quem lutava para conter a raiva
e o embaraço da derrota sofrida. Fitou Arthur por instantes e estendeu-lhe a mão.
- Parabéns, jovem Wesley. Tem a fibra de um grande político.
Arthur sorriu:
- Já houve homens desafiados para duelos por insultos menores, senhor.
- É verdade. - Grattan forçou um sorriso. - Então até será bom para si não ganhar a eleição aqui, em Trim.
- Se eu fosse ao senhor, não apostaria muito dinheiro no senhor O'Farrell para ganhar, senhor.
Henry Grattan fitou-o por mais um momento e depois, abruptamente, virou-se e saiu da sala com passos largos.
A exclusão de Henry Grattan resultou numa subida imediata no apoio a Arthur entre o eleitorado de Trim, e nas últimas semanas antes da votação, ele passou todo o tempo a percorrer
as terras e a falar com as multidões atraídas pela promessa de carnes assadas, vinho clarete barato e barris de cerveja. Tais reuniões públicas frequentemente davam em brigas
de bêbedos, quando os apoiantes rivais lutavam nas ruas das aldeias e nas estradas do campo. Connor O'Farrell continuou a apelar aos sentimentos liberais do povo; embora os
mais pobres se sentissem confortados com o exemplo dos radicais franceses, eles não tinham direito a voto e, por isso, Arthur aproveitou a seu favor a ansiedade que crescia
nas mentes dos proprietários, que tremiam ao ouvir as histórias da violência sensacionalista das multidões das ruas de Paris.
As urnas abriram no último dia de Abril e, quando fecharam, era visível nas contagens que Arthur vencera. Sem demoras, foi apresentado ao público como o membro do parlamento
eleito em liberdade pelo município de Trim.
Na viagem de regresso a Dublin, Arthur deitou-se ao comprido sobre os bancos da carruagem e deleitou-se com o doce sabor do sucesso. Por fim, fizera algo de que a família
se podia orgulhar. Melhor ainda, o seu novo estatuto como membro do parlamento poderia impressionar positivamente um outro público mais importante, que lhe ocupava os pensamentos
regularmente desde há uns tempos. Resolveu escrever a Kitty Pakenham, logo que chegasse a Dublin.
Capítulo 56
- Claro que se sentará connosco nas bancadas do partido conservador.
Charles Fitzroy indicou os assentos mais próximos da cadeira do presidente da assembleia. Arthur murmurou o seu consentimento e olhou para o alto, fixando a cúpula redonda
lá no topo, por cima da sua cabeça. Fitzroy notou para onde ele olhava e sorriu.
- É impressionante, não é? Quando os debates se tornam entediantes, muitas vezes dou por mim a recostar-me na cadeira e a olhar lá para cima. Faz com que um homem se esqueça
do que o rodeia por instantes, o que é sempre agradável.
Arthur sorriu. Já antes estivera no edifício; por vezes para ouvir o irmão William a falar, outras vezes porque a matéria debatida lhe interessava. Mas agora estava ali como
membro, não como convidado, e Arthur sentiu a excitação da exclusividade que todos os novos membros do parlamento sentiam no início.
- Sendo um dos caloiros - prosseguiu Fitzroy -, verá que as regras são simples. Mantenha-se em silêncio, a não ser que esteja a apoiar um dos nossos ou a apupar um dos deles.
- Parou e fitou Arthur. - Lamento que isso não suceda tantas vezes quantas se pense. Na sua maioria, os debates são bons para o Purgatório. Às vezes ponho-me a pensar se não
será essa a verdadeira origem do cognome do nosso partido3.
Arthur riu-se educadamente. O filho de Fitzroy, Richard, tinha sido colega de Arthur em Angers, e ele só se tinha cruzado com o pai em raras ocasiões nos anos recentes. Assim,
Arthur ficou bastante satisfeito quando o convite de Fitzroy para o apresentar à assembleia foi recebido em sua casa. Charles Fitzroy era um homem alto e magro, de cinquenta
e muitos anos. Era gracioso, em palavras e acções, e tinha representado o município de Kinkelly por mais de trinta anos. O seu gosto por roupas era refinado, embora ultrapassado,
mas, de alguma forma, a peruca empoeirada condizia com ele, e o aspecto geral recordava a Arthur muito de Marcel de Pignerolle. Sentiu um beliscão de ansiedade, ao pensar
no director da Academia de Angers. Se a revolução francesa estava disposta a destruir tudo até ao derradeiro bastião da nobreza, então o obstinado De Pignerolle iria sucumbir
juntamente com o sistema que tanto admirava. Arthur sentiu o coração pesado com temor perante tal perspectiva, e isso tornou-se visível na expressão de dor que, por breves
instantes, lhe ensombrou o rosto.
- Está a sentir-se bem, jovem Wesley? - Fitzroy pegou-lhe gentilmente no braço.
- Sim, estou bem. Estava a pensar noutra coisa.
- Ah, sim?
- Não é nada. Estava a recordar-me da minha temporada em França. De alguém que lá conheci.
- Ah, a França! - Fitzroy abanou a cabeça. - Uma tristeza aquele igualitarismo cruel, que eles estão tão empenhados em estabelecer. Nenhum bem virá dali, pode ter a certeza.
Se Deus quisesse que vivêssemos
3 - Refere-se ao cognome de Tory, do Partido Conservador. O cognome de Whig era do Partido Liberal. (1V. da T.)
em democracia, ter-nos-ia feito a todos aristocratas ou camponeses. E que graça teria uma coisa dessas?
- Realmente.
- E o mais sórdido de tudo, é que alguns dos nossos estão a ficar infectados por essas noções.
Arthur assentiu.
- Eu sei. Tive o prazer da companhia do senhor Grattan enquanto fazia campanha em Trim.
- Oh, não se apoquente à conta de Henry Grattan. - Fitzroy fez um gesto de apoucamento com a mão. - Fala de reformas, mas tem coração patriótico. E é suficientemente rico
para imaginar os sacrifícios pessoais que implicaria uma sociedade mais igualitária. Ele não nos causará nenhuns problemas reais, enquanto o formos alimentando com uma dieta
de reformas insignificantes para ele exibir aos seus seguidores. - Fitzroy sorriu cínico. - Pão e circo, meu caro rapaz. Bem, neste caso, batatas e whisky a martelo. Enquanto
tiverem o que comer e beber, não constituirão ameaça à nossa classe.
- Não estou tão seguro disso - respondeu Arthur, após um momento de reflexão. - Tudo o que precisam é de uns poucos homens inspirados, e tudo pode acontecer. Deus nos ajude,
se os irlandeses alguma vez tiverem um Mirabeau ou um Bailly que fale por eles.
- Isso implica um grau de semelhança em sofisticação entre franceses e irlandeses que simplesmente não existe. Os irlandeses nasceram para servir, Wesley. Está-lhes no sangue.
A revolução é coisa que não lhes passaria pela cabeça.
Arthur encolheu os ombros.
- Oxalá tenha razão.
- Claro que tenho, meu rapaz. - Fitzroy deu-lhe uma palmada nas costas. - Agora, venha conhecer alguns amigos meus.
Arthur depressa descobriu que estar nos bancos de trás da facção conservadora do parlamento era uma experiência frustrante. Como Fitzroy tinha dito, os deveres de um novo
membro estavam limitados a obedecer à escolha de voto do partido e a passar o resto do tempo à espera de uma oportunidade para se juntar ao coro de aplausos ou apupos, conforme
requeresse a situação. Houve propostas para mais permissões aos católicos e aos presbiterianos, discussões orçamentais, debates sobre impostos e isenção de impostos, e, durante
todo o tempo, o espectro da revolução francesa constituía-se na pedra de toque para os que resistiam à mudança, como também servia para um toque a reunir dos reformadores.
Depressa se tornou difícil combinar os deveres parlamentares com
os de oficial no castelo de Dublin. Arthur levava o seu papel a sério, ao contrário de outros membros do parlamento, que raramente iam a um debate e que só eram persuadidos
a votar depois de receberem subornos, geralmente na forma de uma sinecura ou pensão, à custa do erário público. E embora Arthur apreciasse as manobras políticas entre conservadores
e liberais, achava a corrupção sem fim e a desonestidade profundamente deprimentes, por vezes. Algum alívio ainda lhe advinha da vida social no castelo. Particularmente agora
que Kitty Pakenham já tinha idade para frequentar regularmente a multidão de jovens que enchiam os salões de baile, os salões de jantar e a interminável sucessão de piqueniques
no Verão.
Após o primeiro encontro, Arthur tinha ficado consternado quando, tão pouco tempo passado, Kitty tinha regressado à sua casa, em Castlepollard. Mas, mesmo antes do Natal,
Kitty e o irmão Tom mudaram-se para a casa da família na praça de Rutland, em Dublin, e Kitty depressa se converteu numa frequentadora assídua da Corte do castelo de Dublin,
o que constituía um secreto prazer para Arthur. Este prazer era arrefecido pelo interesse que Kitty despertava em outros jovens cavalheiros, que depressa caíam sob os seus
encantos e que competiam violentamente pela sua atenção. Durante alguns meses, Arthur encontrou dificuldades em fazer parte do seu grupo de admiradores, para poder ter com
ela uma conversa particular. Umas tantas frases feitas era tudo o que conseguia, antes que algum homem atraente ou alguma amiga vivaça se metessem pelo meio, pedindo uma dança
ou dirigindo a conversa para terrenos mais frívolos. Em tais ocasiões, Arthur fervia por dentro e assumia uma postura de interesse educado, enquanto suportava a ocorrência
rezando todo o tempo para que o interveniente sem miolos em questão desaparecesse ou sofresse algum tipo de ataque horrivelmente debilitante. Mas isso nunca acontecia, e,
de cada vez, Arthur afundava-se mais na frustração e regressava a casa num estado de miserável auto-recriminação por não ter a coragem de ser mais directo nas suas tentativas
de conquistar o afecto de Kitty. Se as coisas continuassem como estavam, martirizava-se ele, antes que passasse muito tempo, alguém com uma aproximação mais confiante a roubaria,
sem ela se aperceber sequer dos sentimentos que Arthur tinha por ela.
Entretanto, ele era espicaçado de cada vez que os olhos de ambos se encontravam no meio de um salão de baile congestionado ou à mesa durante um jantar, e ela parecia sorrir-lhe
com algum tipo de significado especial, que lhe dava a certeza de que o considerava mais do que simplesmente uma cara na multidão. Em tais momentos, ele sentia o coração a
inchar de esperança... antes de se estatelar de novo, quando ela virava o olhar para outro jovem e começava a falar com ele de forma muito interessada. Então,
Arthur ficava a observar com frustração crescente cada sorriso ou gargalhada que ela potenciava.
Quando estava longe dela, tentava racionalizar os sentimentos. Ela era, no fim de contas, apenas uma rapariga, três anos mais nova do que ele. Havia muitas outras jovens atraentes
na Corte, e muitos mais anos à sua frente para conseguir casar com uma delas. Os seus sentimentos por Kitty eram uma obsessão passageira, dizia de si para si, muito compreensível
em alguém da sua idade. Mas, de cada vez que a via, toda a lógica que podia aplicar à situação derretia-se pura e simplesmente e a paixão reactivava-se de novo. Ele estava
a ser tolo e, pior ainda, corria o risco de fazer figura de tolo perante os seus pares, se o que sentia por Kitty fosse conhecido. Porém, se nada fizesse para lhe dar a conhecer
o que sentia, como poderia ela começar a retribuir-lhe a afeição, assumindo que ela estaria interessada nisso?
Capítulo 57
Córsega, 1789
Quando Napoleão desembarcou em Ajaccio, no final de Setembro, ficou atónito ao verificar que a ilha estava praticamente como a tinha deixado, há mais de um ano, antes dos
acontecimentos surpreendentes que se tinham seguido à convocação dos Estados Gerais pelo Rei Luís.
Entre os pescadores e as gentes da cidade, no cais do porto, havia soldados da guarnição que ainda usavam o cocar branco dos Bourbons nos chapéus, quando o resto do exército
já tinha adoptado o azul e vermelho de Paris. Ao percorrer as ruas em direcção à casa da família, Napoleão observava curioso o que o circundava. Não havia cartazes nas esquinas
das ruas a proclamar as últimas novidades da Assembleia Nacional, nem debates apaixonados à porta dos cafés e das tabernas da cidade, nem nenhuma sensação de que o mundo estava
em mudança rápida e de que os vestígios do antigo regime estavam a ser varridos para darem lugar à nova França.
Ao entrar em casa, encontrou a mãe no andar de cima, na lavandaria, debruçada na janela, a puxar as cordas que sustentavam as roupas a escorrer água ao longo da linha que
cruzava o pátio, nas traseiras da casa. Ela voltou-se e viu-o. Napoleão pôs o chapéu em cima de um banco e foi abraçá-la.
- Quando escreveste a dizer que o exército te tinha aceitado de novo, temi não te pôr a vista em cima durante anos. - Deu-lhe uma palmadinha no queixo. - Por quanto tempo
ficas desta vez, Naboleone?
Ele sorriu.
- Não sei. Podem ser muitos mais meses.
- Óptimo. Isso é bom. José regressou de Itália na semana passada. Hoje foi ao tribunal assistir a um julgamento. Tem sentido a tua falta. E eu também. Vou ter-vos a ambos
sob o meu tecto. E ainda bem, da maneira que as coisas estão. - Ela fitou-o curiosa. - Então, que se está a passar exactamente em Paris?
- Deve ter ouvido as notícias, mãe. O mundo inteiro deve ter ouvido as notícias a esta hora.
- Aqui é diferente. Temos os monárquicos a afirmarem que o rei está a empatar, à espera de uma oportunidade para recuperar o poder perdido. Depois, há aquelas cabeças quentes
do clube jacobino a dizerem-nos que a velha ordem morreu e que vivemos em democracia. E há os seguidores de Paoli a proclamarem que o caos em França é a melhor hipótese que
temos de conquistar a independência para a Córsega. - Encolheu os ombros.
- Mas a maior parte das pessoas nem quer saber. A vida continua.
- Já tinha reparado.
Naquela noite, depois do jantar, quando os irmãos mais novos já tinham sido mandados para a cama, com a promessa de que teriam a atenção de Napoleão no dia seguinte, ele sentou-se
com o irmão mais velho e abriu uma garrafa de vinho.
- Então? - José encheu os copos dos dois. - Que estás tu a fazer de novo na Córsega? A sério.
- Para além de estar a desfrutar do convívio da minha família e do meu caro irmão?
José sorriu.
- Para além disso.
- A França não quer os meus serviços nestes tempos. Portanto, é altura de desempenhar um papel mais activo na Córsega. Tu tens estado por cá. Qual é o sentimento geral da
população?
José olhou para o irmão, com expressão astuta.
- Queres tu dizer, que hipóteses têm os paolistas? É difícil saber. Na Assembleia Nacional, o deputado escolhido para representar os nobres corsos é Buttafuoco. Ele afirma
que o governo francês pode manter a Córsega, subornando alguns corsos e não tendo piedade dos restantes. Os deputados do Terceiro Estado são Antoine Crístoforo Saliceti e
Cesari Rocca. Não querem ter nada a ver com os independentistas e argumentam que os melhores interesses da ilha serão mais bem servidos se permanecermos integrados na França.
Como vês, não há ninguém para apresentar a defesa da liberdade da Córsega em Paris.
Napoleão pensou por instantes e depois disse:
- Então, isso terá de ser decidido aqui.
O irmão deu uma gargalhada.
- Já sabia que ias dizer isso.
O clube jacobino reunia-se numa das estalagens das ruas dominadas pelos muros da cidadela. Os membros ficaram radiantes por recrutarem Napoleão. Se os oficiais do rei se tinham
começado a interessar pela política radical, então já não haveria esperança de regresso aos dias negros do antigo regime. O clube assinava tantos jornais de Paris quantos
podia pagar. A atenção mais ávida era prestada aos relatos das actividades do clube jacobino de Paris. Napoleão lia estas notícias com tanto espírito aguçado quanto os outros
membros e ficou particularmente interessado na argumentação apresentada por um deputado chamado Robespierre, anteriormente advogado em Arras. Havia qualquer coisa de familiar
na sua retórica, embora Napoleão não conseguisse localizar o estilo.
Quando os membros não estavam a ler as notícias de Paris, estavam envolvidos em debates escaldantes nas mesas da estalagem, cujo dono tudo contemplava com benignidade, dado
que ficava cada dia mais rico com o aumento maciço do negócio. Napoleão depressa se tornou num dos membros mais assumidos do clube. Por fim, tinha um veículo para a transmissão
de todas as leituras feitas, de todas as anotações tomadas, de todos os ensaios escritos, que tinham preenchido grande parte da existência solitária que vivera nos tempos
livres. Os argumentos longamente ensaiados, que tinha alimentado no peito, explodiam agora numa torrente de lógica irresistível e de princípio moral, e os seus ouvintes seguiam-no
com uma intensidade que só era aliviada pelos brados de aprovação e pelo ribombar dos aplausos.
No início do novo ano, a sua reputação local estava tão bem estabelecida, que foi escolhido para oficial da nova unidade da guarda nacional de Ajaccio. As autoridades francesas,
ainda pouco habituadas ao novo regime que se estava a impor em Paris, observavam as ligações entre os fogosos membros do clube jacobino e os voluntários da unidade da guarda
nacional com interesse crescente e, na Primavera, puseram-se em acção. As tropas suíças cercaram a cidadela desarmada, dispersaram os voluntários e fecharam o clube jacobino.
Sentado na longa mesa no salão da casa materna, Napoleão escreveu uma carta amarga aos deputados Saliceti e Rocca, queixando-se desta supressão de liberdades. Enquanto aguardava
resposta, viajou para norte, para Bastia, e distribuiu cocares revolucionários às pessoas nas ruas, enquanto procurava estabelecer ligações com os patriotas locais e tentava
determinar se a guarnição francesa poderia ser incitada à rebelião.
Esperavam-no más notícias, no regresso a Ajaccio. Os jornais relata-
vam que Saliceti estava a tentar persuadir a Assembleia Nacional a integrar totalmente a Córsega no Estado Francês e a declarar a ilha como uma das regiões em que a nova organização
territorial estava a dividir a França. A disposição de Napoleão tornou-se tenebrosa. A libertação da sua terra natal parecia mais improvável do que nunca, com os deputados
corsos a trabalharem tão diligentemente para unir a ilha à nação francesa. Tudo dependia agora de Paoli e da organização do apoio necessário, para se derrubar o poder francês
pela força.
Capítulo 58
Pasquale Paoli teve o seu triunfante regresso do exílio na Primavera de 1790. José e Napoleão faziam parte da delegação da Córsega que foi a Marselha ao encontro do grande
homem. Aos sessenta e seis anos, ele ainda caminhava altaneiro e aprumado e conservava nas feições os traços de comando que tanto tinham inspirado os seus compatriotas, anos
atrás. Até Napoleão sentiu o carisma do homem, quando lhe foi apresentado. Paoli agarrou-o pelos ombros e fitou-o nos olhos.
- Cidadão Buona Parte, tive o privilégio de conhecer o seu pai. Carlos era um homem bom. Estive de luto, quando soube da sua morte, demasiado cedo num jovem tão promissor.
Pelo menos, tem bons filhos para continuarem a sua obra.
Napoleão fez uma vénia com a cabeça, em sinal de agradecimento, e respondeu:
- Sim, senhor. Não descansaremos até que a Córsega tenha ganhado a sua liberdade.
- Liberdade... - O sobrolho de Paoli franziu-se ligeiramente, e ele continuou a olhar Napoleão nos olhos. - Sim, desfrutaremos de todas as liberdades que a nova França tem
para oferecer.
Apertou os ombros de Napoleão, e passou ao membro seguinte da delegação.
Uma grande multidão estava reunida para saudar Paoli, quando ele pusesse os pés em terra, em Bastia. Os mercenários suíços da guarnição de Bastia tinham aberto uma passagem
para ele e a respectiva comitiva percorrerem. Desceu da prancha de desembarque e ergueu o chapéu, numa saudação às pessoas que o aplaudiam. Um grande cocar revolucionário
estava preso à coroa do chapéu, e Paoli acenou com ele lentamente, de lado a lado, enquanto caminhava pelo cais, seguido pelos homens da delegação, que sorriam e acenavam
à multidão.
Os irmãos Buona Parte acompanharam Paoli até Corte, a antiga capital, no centro da ilha. José permaneceu lá, dado que lhe tinha sido prome-
tido um posto menor na nova administração de Paoli. Napoleão fez saber que ficaria honrado em aceitar qualquer comando militar sob as ordens de Paoli e depois regressou a
Ajaccio sozinho. Reflectiu acerca da delicadeza da sua situação. Os paolistas queriam a independência. A maior parte dos jacobinos queria a democracia radical, e Napoleão
queria ambas. Ao persistir nesse objectivo, arriscava-se a arranjar inimigos nos dois lados.
No final do Verão, voltou a frequentar o recém-reinaugurado clube jacobino e começou a falar em público de novo. Desta feita, manteve os argumentos dentro das fronteiras da
Córsega, em vez de falar de forma abrangente dos temas filosóficos da revolução. Alegava que qualquer bom revolucionário devia dar início à revolução onde se encontrasse.
Não devia esperar pelos políticos de Paris, nem mais um minuto. Os jacobinos de Ajaccio deviam preparar-se para tomar a cidadela, que se elevava sobre a cidade, e tornar Ajaccio
numa comuna revolucionária. Napoleão acrescentava que a Igreja Católica devia perder o direito à colecta de impostos e outros privilégios legais. Quando o disse, sabia que
os paolistas não concordariam. Eram nacionalistas, não eram ateus, e, no momento seguinte, alguns membros da assistência puseram-se de pé e denunciaram Napoleão e as suas
heresias. Ele reconheceu um deles, Pozzo di Borgo, um amigo de infância. Napoleão apontou para ele:
- Com que direito cobra a Igreja estes impostos?
- Por direito divino! - gritou-lhe Di Borgo. - É a vontade de
Deus.
- E onde é que está expressa essa vontade de Deus exactamente? Não está na Bíblia, nem em nenhuma das Escrituras. A verdade é que foram os homens que criaram estes impostos
e, em consequência, os homens podem acabar com eles, sem ofender o Todo-Poderoso.
Di Borgo retorquiu, com os olhos esbugalhados.
- A Igreja é a encarnação da vontade de Deus. Se a Igreja requer impostos, é porque Deus requer impostos.
- Deus requer impostos? - Napoleão deu uma gargalhada. - Para que precisa Deus de impostos? Haverá contas para pagar no Céu?
Alguns dos membros mais jovens acompanharam-no no riso, mas Di Borgo corou de raiva.
- Tem cuidado, Buona Parte, ou serás julgado mais cedo do que pensas.
Dizendo isto, deu meia volta e deixou a sala, seguido por outros e acompanhado pelos apupos dos jacobinos mais radicais.
Quando Napoleão saiu à noite do clube, uns tantos membros mais jovens acompanharam-no até casa, porque queriam continuar a discutir alguns dos pontos apresentados pelos oradores
da sessão desse dia.
Quando o grupo entrou na rua que levava à casa de Napoleão, várias figuras indistintas emergiram de uma travessa ao lado e espalharam-se rapidamente pela estrada. Cada uma
empunhava um bastão.
- Que é isto? - riu nervoso um dos companheiros de Napoleão.
- Não há tantos ladrões em toda a cidade.
- Silêncio! - disparou Napoleão. O som de botas atrás dele fê-lo virar a cabeça, e viu mais silhuetas sombrias a aparecerem, vindas da direcção do clube jacobino, para fecharem
a armadilha. - Merda...
Por instantes, tudo permaneceu imóvel na rua. Napoleão agachou-se e cerrou os punhos. Respirou fundo e gritou o mais alto que pôde.
- Sigam-me!
Atirou-se aos homens que bloqueavam a rua à sua frente, e os camaradas seguiram-no. Cerrando os dentes, foi de encontro a um atacante, antes que o homem se pudesse servir
do bastão. Tombaram sobre o empedrado da rua, com o joelho de Napoleão a calcar os pulmões do homem, quando caíram. Esmurrou a cara do homem com toda a força e ouviu o som
leve de algo a quebrar, quando o nariz se partiu, e o homem, aflito com dores, tentou continuar a respirar. Napoleão olhou em volta e viu um montão de sombras a lutarem. Era
impossível saber de que lado estavam, tal como tinha esperado que acontecesse quando lançou o ataque. Sentiu a ponta de um bastão, e arrancou-o da mão inerte do homem. Mantendo-se
agachado, recuou até à parede de um edifício do outro lado da rua. À sua frente, a luta prosseguia, numa enorme massa de sombras, acompanhada de gritos de dor e de urros.
De repente, uma figura confrontou-o, de bastão erguido.
- Vamos! - rosnou Napoleão. - Vamos dar cabo dos sacanas!
- Vamos!
O homem riu-se e virou-se para a zona da luta, voltando as costas a Napoleão. De imediato, este moveu o bastão que capturara, descrevendo com ele o arco de uma foice e atingindo
o joelho do homem; o barulho forte de algo a estalar confirmou a violência da pancada. Um grito de estridente agonia rasgou o ar, e o homem estatelou-se no chão. Napoleão
encheu o peito de ar e gritou.
- Jacobinos! Comigo! - Virou-se e correu rua acima, em direcção a sua casa. - Sigam-me!
Ouviu batidas de passos no empedrado da rua atrás dele, enquanto corria sem parar. Adiante, viu o brilho fraco da candeia que a mãe tinha deixado acesa, por cima da porta
de entrada, para alumiar o seu regresso tardio, e olhou para trás, por cima do ombro. A rua estava cheia de figuras que corriam na mesma direcção.
- Venham! Por aqui!
Alcançou a porta, levantou a tranca e precipitou-se para dentro. Logo atrás, entraram dois camaradas e depois outro, com sangue a escorrer da cabeça. Napoleão abriu com toda
a força o armário onde o pai costumava guardar a arma de caça. Pegou na arma e destravou-a, enquanto se dirigia para a porta, parando na ombreira. O primeiro dos atacantes
apareceu a correr; um homem alto, com um lenço atado por cima da boca e nariz, para esconder a identidade. Mal viu o cano da arma, parou de imediato.
- Saiam daqui! - gritou Napoleão. - Todos vocês! Ou eu juro que mato o primeiro homem que se aproxime mais um passo da minha casa!
- Fiquem onde estão! - gritou uma voz mais abaixo na rua. Napoleão reconheceu-a logo.
- Di Borgo! Diz aos teus homens para saírem daqui, ou juro por Deus que disparo!
Houve um momento de silêncio tenso, e depois ouviu-se uma gargalhada entre dentes, no meio da escuridão.
- Então é isto que é preciso fazer para te tornar num crente? Não deve haver mais desrespeito pela Igreja. Foste avisado uma vez, Buona Parte. Não haverá outra. Vamos, homens,
deixemo-los.
As sombras afastaram-se, e Napoleão esperou até que estivessem a alguma distância, antes de baixar a arma e fechar a porta da rua. Olhou para os companheiros e reparou que
estavam todos com ele. Para além do jovem com o golpe na cabeça, havia outro com o queixo magoado e ainda outro com um pulso partido, que segurava contra o peito. Todos estavam
ofegantes e tinham os olhos esbugalhados de excitação e medo. Napoleão reparou que as suas próprias mãos, que agarravam na arma, estavam a tremer.
- Ouve! - murmurou um dos camaradas. - Tu tinhas mesmo disparado contra eles?
Napoleão sorriu e levantou o cano da arma na direcção do tecto.
- Acho que ninguém a carregou nos últimos anos.
Puxou o gatilho. De imediato, houve um assobio, uma explosão ensurdecedora e um bocado de gesso explodiu no tecto. Os outros deram um salto para trás, alarmados, e olharam
em estado de choque para Napoleão.
Instantes depois, uma porta abriu-se com rapidez, passos apressados caminharam pelo patamar, e a mãe gritou.
- Que diacho se passa aqui? Quem está a disparar armas em minha casa, a estas horas da noite?
Napoleão trocou um olhar de ansiedade com os amigos, antes de todos se escancararem a rir.
Napoleão levou o aviso a sério o suficiente para não tornar a andar sozinho nas ruas de Ajaccio. Para protecção própria e da família, convenceu os
membros do clube jacobino a escolhê-lo para tenente-coronel do batalhão de voluntários da guarda nacional. Foi um assunto fácil de resolver, dado que ele era um dos poucos
homens em Ajaccio com treino militar profissional, e, quando o Outono chegou, Napoleão assumiu o posto. Como o comandante da unidade, o coronel Quenza, era um mercador idoso,
também membro do clube jacobino, que nunca disparara uma arma num momento de fúria, muito menos tomara parte em exercícios de treino, isso deixou Napoleão com o comando efectivo
da unidade. Com uma força de quinhentos homens sob o seu comando, deixou de ter problemas com Di Borgo e com os seus amigos paolistas. Ficou livre de continuar a desenvolver
a sua base política em Ajaccio. Ao mesmo tempo, treinava os homens da guarda nacional o melhor que lhe era possível, sob os olhares divertidos dos soldados da guarnição sem
nada para fazer, e que estavam sempre inclinados a negligenciar o treino militar enquanto se encontravam naquela terra de nenhures, geralmente sossegada.
O único ponto excitante do Verão seguinte foi a notícia da tentativa de fuga de Paris da família real, que pretendia juntar-se ao exército de imigrados e de mercenários estrangeiros,
numa tentativa de recuperar o poder das mãos da Assembleia Nacional. Napoleão reuniu-se com os outros membros do clube jacobino, à roda das cópias do Moniteur e do Mercure,
para ler os primeiros relatos da prisão do rei, em Varennes. Ninguém tinha a menor dúvida de que ele agora não passava de um prisioneiro do novo regime de Paris. O derradeiro
vestígio da sua autoridade tinha-se dissolvido naquela falhada tentativa de fuga.
- Parece que está tudo acabado - concluiu Napoleão, ao acabar de ler os relatos.
- O que é que está acabado? - perguntou-lhe um dos mais jovens membros do clube.
- A monarquia. Está acabada. - Napoleão bateu repetidamente com o dedo no jornal. - O rei e a tonta da rainha foram apanhados. Andaram a fingir que apoiavam as reformas, desde
a reunião dos Estados-Gerais. E durante todo o tempo, andavam a conspirar contra o povo francês. Agora se vê o que eles realmente são: uns traidores!
Vários rostos voltaram-se na direcção de Napoleão, e ele ficou certo de que tinha falado de mais. Mesmo agora, mesmo ali, dentro do clube jacobino, havia alguns que se regiam
ainda pela tradição do respeito pela família real. A França ainda não estava pronta para dispensar a monarquia, sem que isso causasse divisões terrivelmente amargas. Mas,
visto que já não havia forma de fugir da venalidade do Rei Luís, a Assembleia Nacional seria forçada a actuar para salvar o país e salvar-se a ela própria. Napoleão reflectiu
por momentos: se o rei fosse deposto, e se isso levasse à dissipação
da ordem e talvez até à guerra civil, então, era imperativo que a Córsega não fosse envolvida. A ilha já sofrera que chegasse na sua sequiosa luta pela libertação.
Capítulo 59
Quando o ano chegava ao fim, Napoleão recebeu uma carta do Ministério da Guerra, de Paris, ordenando-lhe que regressasse ao regimento de artilharia, em Auxonne. Ele ainda
se encontrava amargamente ressentido com a forma como fora enviado de licença (ou melhor dito, como fora enviado para o exílio) e, portanto, simplesmente ignorou a carta e
continuou a treinar os seus homens e a fazer planos. O Natal passou, com todas as usuais festividades, e Napoleão manteve-se fora da ribalta, para não arriscar ter mais sarilhos
por causa das suas opiniões acerca da Igreja. A sua reputação no clube jacobino pouco afecto lhe tinha granjeado entre grande parte da população de Ajaccio, e a família temia
pela sua vida.
No início do novo ano, Napoleão levou o batalhão de voluntários para treino de tácticas de batalha no campo. Numa tarde de Fevereiro, ventosa e húmida, pôs a funcionar a primeira
peça do seu plano. Estava de pé, numa elevação, ao lado do coronel Quenza, ambos um pouco curvados dentro dos seus sobretudos, com a chuva a escorrer das abas dos respectivos
chapéus. Por debaixo deles, espalhados ao longo do chão rochoso de um vale estreito, os homens do batalhão manobravam numa linha de ataque, com o objectivo de tomar uma fortificação
imaginária, marcada com paus, um pouco mais à frente. Napoleão ia comentando para o seu superior o que acontecia e ia-lhe explicando a nova formação que estava a experimentar.
- Notará que a formação do batalhão é feita com uma coluna no fim de cada linha.
- Sim - disse Quenza. - Estava a interrogar-me acerca disso. Para que serve este novo esquema, Buona Parte? Que há de errado em usar o velho sistema da coluna avançada?
Napoleão apontou para os paus distantes.
- Vamos assumir que há canhões naquelas fortificações, senhor. Se fizermos avançar os homens em coluna, eles serão feitos em pedaços. Se os fizermos avançar em linha, perderíamos
muito menos homens, mas, quando chegássemos às defesas, faltar-nos-ia a concentração de força necessária para impelir o assalto. Esta formação mista parece oferecer as melhores
hipóteses, para além de proteger ambos os flancos de ataques laterais.
Quenza contemplou o batalhão a avançar regularmente sobre a superfície rochosa, mantendo a formação à medida que ia progredindo. Anuiu com satisfação.
- Fez maravilhas com estes homens, Buona Parte. Estou muito satisfeito consigo.
- Muito obrigado, senhor. - Napoleão inclinou a cabeça com modéstia. Decidiu que era a altura de falar. Pigarreou. - No meu juízo, enquanto soldado profissional, o seu batalhão
é tão bom quanto qualquer outro batalhão do exército francês. Melhor do que muitos, até. Certamente melhor do que a guarnição em Ajaccio.
O peito de Quenza inchou de orgulho.
- Sim. Podíamos ensinar-lhes uma ou duas coisas.
- Podíamos sim, senhor. - Napoleão sorriu. - Então, porque não o fazemos?
Quenza virou-se para ele, completamente espantado.
- De que está a falar?
- Apenas disto: se o seu batalhão pode actuar ao mais alto nível, não precisamos de ter a guarnição ali para nos proteger. O nosso batalhão pode ficar na cidadela e defender
a cidade, se for preciso. Tenho a certeza de que o governo ficaria mais do que satisfeito por se livrar do fardo. Sabe Deus como eles precisam de muitos mais homens em França
neste momento.
- Sim... sim, imagino que precisarão.
- Pode sugerir isso ao general Paoli, da próxima vez que lhe escrever, senhor. - Napoleão encolheu os ombros. - Estou certo de que ele não desperdiçará a oportunidade de ter,
pelo menos, uma cidade corsa defendida por corsos.
- Tem razão! - Os olhos de Quenza brilharam. - Ele vai ficar encantado com a ideia! Tenho a certeza que sim.
Quando a resposta de Paoli chegou, era inequívoca. Quenza foi de imediato à procura do seu subordinado, ao clube jacobino, e meteu-lhe a carta na mão.
- Veja! Leia isso!
Napoleão pegou na carta e leu rapidamente o conteúdo, enquanto Quenza aguardava impaciente, de pé, subindo e descendo as pernas,
apoiando-se nos dedos dos pés.
- Veja se não leva o dia todo, Buona Parte!
Napoleão terminou a leitura da carta e devolveu-a, esforçando-se por não sorrir de satisfação por Paoli ter mordido o isco.
- Parece que o general não acha que seja uma boa ideia.
- O general não acha? - Quenza inchou de indignação e espetou um dos seus dedos gordos na carta. - Você leu mesmo a carta? Ele quase me acusa de traição! E aqui! Veja! Ele
afirma que aos nossos homens falta competência para fazerem o trabalho como deve ser... Como
se atreve a dizer isso? O patife! A vender-nos aos franceses. Meu Deus, eles nem franceses são na guarnição; são o raio de uns suíços! Isto é um ultraje!
Os restantes membros do clube tinham-se aproximado para ver qual a causa da gritaria, e agora Quenza voltava-se para eles.
- Um ultraje, é o que vos digo!
Os membros olhavam-no confusos e sem compreenderem o que se passava.
Napoleão pegou-lhe gentilmente no braço.
- Senhor, talvez fosse melhor explicar o que se passa. Ou posso ser eu a fazê-lo, se me permite.
- O quê? - Quenza deitou um olhar decidido a Napoleão, e, por instantes, ele temeu que o coronel resolvesse falar. Mas o homem estava tão engasgado com raiva, que se limitou
a assentir e a empurrar Napoleão para o meio do estrado. - Diga-lhes! Conte-lhes tudo.
Fingindo relutância, Napoleão fez o que lhe fora ordenado. A sala ia-se enchendo de homens interessados em ouvir o que tinha o jovem oficial carismático para anunciar, e ele
aguardou até que a área à sua frente estivesse cheia de gente.
- O coronel Quenza acabou de receber uma carta de Pascoal Paoli. Parece que o cidadão Paoli não tem fé no batalhão de voluntários de Ajaccio. Prefere confiar as vidas das
nossas mulheres e crianças a uma horda de mercenários suíços. Pensa que não somos competentes o suficiente, nem corajosos, para defendermos as nossas famílias. - Napoleão
fez uma pausa para que a mensagem assentasse. Como tinha previsto, o insulto à honra dos homens de Ajaccio produziu de imediato expressões de ultraje. Ergueu os braços para
acalmar a assistência. - Vamos permitir que este homem nos manche com tal vergonha?
A multidão respondeu gritando o seu desafio.
- Vamos engolir este insulto como se fôssemos cobardes e escravos?
- Não! Nunca!
- Um verdadeiro corso prefere morrer a sofrer tal humilhação! Temos de defender a nossa honra! Temos de vingar a grande injustiça feita ao coronel Quenza e aos bons homens
do batalhão de voluntários!
Quenza endireitou-se e tentou dar um ar heróico, quando os membros o saudaram. Napoleão manteve o modo de desafio e pediu calma, mais uma vez.
- Apenas uma acção bastará para salvar a nossa honra. Temos de tomar a cidadela de Ajaccio! Temos de tomar o controlo da cidadela agora e provar que os corsos sabem tomar
conta de si! Oficiais do batalhão, con-
voquem os vossos homens! Se Paoli tem medo de nos libertar da França, então tomaremos nós conta do assunto!
A sala ainda ressoava com os vivas dos membros do clube jacobino, e já os oficiais do batalhão de voluntários saíam apressados para irem reunir os seus homens. Os poucos membros
que tinham permanecido silenciosos durante o debate saíram discretamente, com ansiedade estampada nos rostos. Napoleão sentiu que alguém lhe puxava a manga e voltou-se, dando
de caras com Quenza a fitá-lo com uma expressão inquieta.
- Eu... eu não queria que isto acontecesse.
- Mas, senhor, ele insultou-o. Ele insultou cada homem de Ajaccio.
- Sim, mas...
- Agora é tarde de mais, senhor. Temos de levar isto até ao fim, ou seremos apelidados de cobardes pela Córsega inteira.
Quenza contraiu-se, mordeu o lábio e olhou em redor. Anuiu para si próprio e depois voltou-se para Napoleão, esforçando-se muito por parecer corajoso e militar.
- Vamos a isso, Buona Parte. Às armas!
Capítulo 60
Na pálida claridade da última hora antes do amanhecer, as ruas de Ajaccio permaneciam frias. Os homens do batalhão de voluntários marchavam em direcção à cidadela, em silêncio,
com o vapor irregular das suas respirações a emplumar-se no ar, pelo meio das ondas metálicas das baionetas empinadas. Napoleão ficou satisfeito ao constatar que a disciplina
que lhes tinha incutido durante meses de treinos estava a dar resultado. Nenhum homem falava, e lá iam marchando, com caras sérias, determinados em cumprir o seu dever. Napoleão
tinha-se assegurado de que cada oficial transmitisse aos seus homens a ideia de que a acção era necessária para redimir a honra e libertar a Córsega da ocupação estrangeira.
O coronel Quenza ficara radiante por entregar o comando ao seu subordinado. Ficou a aguardar as notícias da vitória no clube jacobino, que requisitara para seu quartel-general.
As ameias da cidadela eram visíveis acima dos telhados dos prédios à frente do batalhão. No topo da cidadela estava hasteada a bandeira azul e branca dos Bourbon, que brilhava
aos primeiros raios de Sol que iam dourando as montanhas.
Napoleão fez sinal a um dos seus sargentos.
- Faça avançar o pelotão de assalto.
- Sim, senhor.
Quarenta homens, os melhores dos voluntários, envergando apenas
os uniformes, com os cintos das munições cruzados sobre os ombros, avançaram para a testa da coluna. Iriam tomar a entrada da cidadela, e, quando Napoleão desse a ordem, os
outros segui-los-iam. Os homens olharam para o seu jovem tenente-coronel com olhos sequiosos, e ele fez-lhes sinal para avançarem.
- Vamos a isto.
O pelotão avançou ao longo das sombras de um dos lados da rua. No fim, a rua dava uma curva apertada para a esquerda e entroncava na larga avenida que acompanhava as muralhas
da cidadela. Directamente oposta, estava a entrada fortificada da cidadela, coberta por dois bastiões salientes. Ao aproximarem-se da curva da rua, Napoleão fez sinal aos
homens para pararem. Avançou agachado e espreitou à esquina. Quarenta passos adiante, um par de sentinelas estava de serviço aos portões abertos. Estavam encostadas ao muro
de um dos bastiões e pareciam estar a falar. Napoleão sorriu. Aquilo ia ser demasiado fácil. Um rápido olhar às muralhas de ambos os lados do portão assegurou-lhe que não
estavam a ser observados, ou, pelo menos, que as sentinelas nas muralhas eram tão desleixadas quanto as do portão. Napoleão retrocedeu para junto do esquadrão de assalto.
- Lembrem-se: nada de barulho. Quando atacarmos o portão, corram o máximo que puderem. Não parem por nada. Tudo depende da velocidade. Entendido?
Vários homens anuíram, outros sorriram de gozo. O sargento encontrava-se na esquina, pronto para transmitir o sinal de Napoleão ao resto do batalhão para que carregasse.
- Muito bem. Vamos a isto.
Napoleão virou-se para a cidadela, tirando a espada da bainha. Respirou fundo e lançou-se na corrida. O resto do esquadrão seguia imediatamente atrás dele. Viraram a esquina
e desataram a correr sobre a superfície plana e aberta à sua frente.
As duas sentinelas deram por eles no próprio instante, mas não conseguiram reagir nos primeiros segundos, pasmadas com a visão de homens armados que corriam para elas, em
silêncio. Depois, o encantamento quebrou-se. As sentinelas pegaram nos mosquetes, destravaram-nos, fizeram pontaria à pressa e dispararam.
Uma bala passou perto de Napoleão, como uma chicotada aguda. Outra atingiu um homem à sua esquerda, soando como um pau a bater em couro molhado. O homem fez uma pirueta e
caiu para a frente, soltando um berro. Os seus camaradas, cumprindo as ordens recebidas, continuaram a correr, saltaram por cima dele e prosseguiram em direcção aos portões.
Adiante, as duas sentinelas viraram-se e fugiram para dentro da cidadela, à
procura de segurança. O esquadrão de assalto avançou com rapidez, passou entre os bastiões e, com um gesto de alegria, Napoleão percebeu que eles iam ter êxito. Não fazia
sentido permanecer em silêncio por mais tempo. Encheu o peito de ar e gritou.
- Avancem! Os portões são nossos!
Os homens deram um urro de júbilo e carregaram. Mesmo antes de chegar ao portão, Napoleão deixou-se ficar parado, pronto para dar a ordem ao resto do batalhão para os seguir.
De repente, ouviu-se uma forte ordem de comando dentro dos portões, que fez parar os homens que tinham passado por Napoleão a correr.
- Fogo! - berrou alguém.
O estrondo dos estilhaços de uma rajada de mosquetes ressoou ensurdecedor e ecoou nas muralhas dos bastiões guardiães. Alguns homens de Napoleão foram atirados ao chão e outros
encolheram-se e agarraram-se às feridas.
- Avançar! - foi a ordem seguinte, e Napoleão ouviu o bater de botas a aproximar-se. Soube desde logo que caíra numa armadilha. Alguém tinha avisado a guarnição, um daqueles
cobardes do clube jacobino que se tinham escapulido da reunião logo que Napoleão incitara os outros às armas.
- Para trás! - Napoleão gritou aos seus homens. - Recuem! Para
trás!
Afastou-se alguns passos dos portões, sempre a correr, e depois parou e virou-se para ver o que acontecia. Os seus homens fugiam. Depois, a primeira casaca-vermelha dos soldados
suíços ficou visível, no meio do fumo da pólvora que saía da abertura ladeada pelos bastiões. Mais casacas se seguiram, e Napoleão correu para se abrigar na rua de onde tinha
emergido, apenas há alguns minutos. Os sobreviventes do pelotão de assalto corriam para salvar a vida, e alguns atiraram com as armas para o chão, no meio do pânico, ao procurarem
o abrigo mais próximo.
Quando Napoleão chegou à esquina da rua, encostou-se à parede e tentou respirar, antes de arriscar uma nova olhadela aos portões. Quase uma companhia inteira de soldados suíços
tinha emergido da cidadela, e ele testemunhou como dois deles espetavam as baionetas num dos voluntários feridos. Ele tinha erguido a mão e gritado por misericórdia, mas os
gritos foram interrompidos pela entrada das lâminas na sua garganta.
No outro lado da rua, acumulava-se o bater pesado das botas do resto do batalhão. Ainda havia uma hipótese, pensou Napoleão, embora desesperada. Endireitou-se e esperou que
a coluna chegasse até junto dele.
- O batalhão em formação de linha! - gritou, indicando a avenida em frente à cidadela.
Os oficiais obedeceram e seguiram a ordem, e Napoleão sentiu uma ponta de orgulho quando os viu sair para o espaço aberto e começarem a formar-se de ambos os lados da rua.
O oficial que comandava o destacamento suíço olhou ansioso antes de dar ordem de recuo aos seus homens. Mais soldados da guarnição eram visíveis nas ameias onde, era agora
claro, tinham estado à espera todo o tempo. Pequenas nuvens de fumo apareciam ao longo das muralhas, acompanhando os estouros irregulares dos disparos dos mosquetes, que ecoavam
no espaço aberto. Aqui e ali, fragmentos de pedra da rua explodiam, e mais uns tantos voluntários caíam.
- Apontar mosquetes! - ordenou Napoleão.
Ao longo da linha, os canos longos apontaram ao inimigo. O oficial nos portões ainda estava a formar os seus homens em linha para responder à formação de Napoleão, quando
este deixou cair o braço.
- Fogo!
Por segundos, Napoleão ficou surdo com a rajada que foi disparada pelos mosquetes dos voluntários vestidos de azul. Uma densa nuvem de fumo de pólvora impedia a visão da cidadela
e dos homens que lá se encontravam. Pouco a pouco, a nuvem foi desaparecendo, enquanto os voluntários recarregavam as armas à pressa. Junto ao portão, quatro corpos de casaca
vermelha jaziam no meio dos mortos do pelotão de assalto. Os restantes já se tinham retirado para dentro dos portões e, notou Napoleão, os defensores selavam agora a entrada
com blocos de madeira com rebites, colocados em posição com grandes estrondos.
Nesse momento, Napoleão apercebeu-se de que os defensores nas muralhas estavam a visar os voluntários e de que tinha de lhes arranjar abrigo o mais depressa possível.
- Batalhão! Retirada para abrigo! Retirada!
Os homens não precisaram de ser encorajados e entraram à força nas casas em frente às muralhas da cidadela. Napoleão entrou num edifício alto, propriedade de um dos mercadores
ricos de Ajaccio e, ignorando os gritos de protesto da mulher do mercador, subiu as escadas até ao sótão, de onde espreitou com precaução pela pequena janela que lhe permitia
visibilidade por cima dos telhados. Olhando para ambos os lados, viu que tanto os seus homens quanto os defensores estavam ocupados numa troca de tiros. Napoleão ficou satisfeito
que isso durasse algum tempo. Seria bom para os homens terem a experiência do que é estar debaixo de fogo real, embora, neste caso, sob a segurança da cobertura de prédios
de pedra. Deixou-os disparar durante um quarto de hora, antes de dar ordens para que cessassem fogo, dirigindo-se ao clube jacobino.
O coronel Quenza, sentado à secretária, pôs-se de pé com um pulo
quando Napoleão entrou na sala e espetou um dedo na direcção do subordinado.
- Que diabo está a acontecer, Buona Parte? Chegam-me relatos de que os meus homens estão a ser massacrados!
- Houve algumas baixas - admitiu friamente Napoleão - mas sabíamos que isso iria ocorrer.
- E tomámos a cidadela?
- Não, senhor. - Napoleão inclinou a cabeça para a janela, através da qual se ouviam os disparos irregulares dos defensores. - Como pode ouvir, alguém os avisou da nossa chegada.
A guarnição fechou os portões, e os nossos homens têm a entrada da cidadela cercada.
- Cercada? - Quenza pestanejou nervoso e cruzou as mãos. - E agora, que vai acontecer, eh?
- Neste momento, nada, senhor. - Napoleão analisou rapidamente as opções que lhe restavam. - Podemos esperar até à noite e tentar outro assalto. O que é arriscado. Podemos
tentar matá-los à fome. Ou podemos tentar negociar uma rendição.
Quenza deu um pulo ao ouvir a derradeira sugestão.
- Negociar. É o que vamos fazer. Talvez seja a melhor forma de sairmos desta trapalhada que você criou.
Napoleão sentiu a raiva a apertar-lhe a garganta, mas controlou-a.
- Muito bem, senhor. Enviarei um homem com uma bandeira de tréguas.
- Então, trate disso.
Ambos os homens sentiram o edifício a tremer por debaixo dos pés e, no instante seguinte, um grande pedaço de parede tombou do lado de fora da janela, enquanto um enorme estrondo
ecoava na cidade inteira. Quenza afastou-se da janela com um pulo.
- Que é isto?
- Artilharia - respondeu Napoleão, neutral. - Devem ter trazido uma arma para um dos bastiões. Parece que já têm conhecimento de que o clube jacobino está por detrás do ataque.
- Estão a disparar contra nós? - Quenza olhou com olhos esbugalhados para Napoleão. - Contra mim? Tenho de sair daqui. Tenho de arranjar um local seguro.
Quenza pegou no chapéu e correu para a porta, no momento em que outro disparo atingia o telhado. Contraiu-se e olhou para trás, para Napoleão.
- Trate das negociações. Vou estabelecer um novo posto de comando na catedral. Eles não se atreverão a disparar para lá.
- Não, senhor. Imagino que não.
Napoleão seguiu o coronel porta fora e regressou ao batalhão. Cumprindo as suas ordens, os homens não tinham disparado para as muralhas, e apenas os disparos ocasionais dos
soldados da cidadela, pontuados pelo estampido enorme da peça de artilharia, ecoavam no espaço aberto.
Desapertando o lenço branco que tinha ao pescoço, Napoleão amarrou-o à ponta da espada. Respirou fundo e avançou pela avenida, acenando com a espada erguida para atrair a
atenção dos defensores. Uma voz gritou qualquer coisa dentro da cidadela e, de imediato, pequenas nuvens de fumo branco apareceram no ar, e balas foram projectadas do alto,
e duas atingiram as pedras do chão, próximas dos seus pés. Napoleão agachou-se e recuou para a zona de segurança, o mais depressa que pôde.
- Lá se foram as negociações...
Após ter enviado informação da tentativa falhada ao coronel, regressou ao sótão da casa do mercador, onde um sargento estava de vigia à cidadela.
- Algum desenvolvimento?
- Sim, senhor. Pouco depois de o senhor ter ido ao encontro do coronel, um barco zarpou do cais da cidadela.
- E que rumo tomou?
- Para norte, senhor. Provavelmente para Bastia. Devem ter ido pedir reforços.
Napoleão assentiu. Era isto que ele mais temia que acontecesse. O comandante da guarnição, ao ser avisado do ataque, mandou preparar o barco para zarpar ao raiar do dia, à
mesma hora em que o malfadado batalhão de ataque tentava assaltar os portões. Com vento de feição, o barco podia chegar a Bastia ao anoitecer. Contando com um dia para organizar
os reforços, e outro para o caminho, Napoleão apercebeu-se de que não tinha hipótese de os fazer render pela fome. Nem os voluntários do batalhão estariam dispostos a tentar
um assalto directo à cidadela. As baixas seriam altíssimas, e Napoleão desencorajou-se ao pensar em tamanha carnificina. Aquilo era para ter sido um golpe rápido, mas agora
ele não conseguia ver na situação mais do que falhanço e humilhação.
Durante os três dias seguintes, Napoleão tentou por várias vezes negociar, mas a guarnição disparava sobre quem se atrevesse a mostrar a cara em frente às muralhas da cidadela.
A peça de artilharia, montada no bastião norte, deixou de disparar depois de ter destruído o andar do topo do clube jacobino, e, em seguida, o silêncio e a calma da insegurança
cobriram o quarteirão vizinho à cidadela.
Nos outros locais, a população de Ajaccio aventurava-se desconfiada nas ruas e fazia apenas as compras necessárias, logo regressando apressa-
da ao abrigo das suas casas. Rapidamente se tornou claro para Napoleão o pouco apoio que havia à tentativa de tomada da cidadela que o batalhão levara a cabo. Logo que o bombardeamento
do clube jacobino cessou, uma pequena multidão de cidadãos juntou-se na rua a gritar insultos para os que ainda lá permaneciam e a atirar pedras a qualquer cara que aparecesse
em qualquer uma das janelas destruídas.
Ao entardecer do terceiro dia, vários navios de guerra foram avistados a entrar no golfo de Ajaccio. Na aproximação final ao cais, as portinholas dos canhões abriram-se, e
os barcos lançaram âncora com os canos apontados à cidade. A coberto das baterias dos navios, as barcaças foram sendo enviadas para terra, e, ao crepúsculo, um regimento de
soldados profissionais marchou em linha pela avenida acima e parou em frente aos portões da cidadela
O coronel Quenza tinha saído da catedral, mal soube da aproximação dos navios, e fora para junto do seu subordinado. Agora, ambos os oficiais avançavam desconfiados na direcção
do comandante dos reforços. Era um major do exército regular, que avançou para confrontar os comandantes do batalhão de voluntários.
- Coronel Quenza? - Fez continência e depois voltou-se para Napoleão. - E o senhor deve ser o tenente-coronel Buona Parte?
Napoleão anuiu, e o major tornou a dar atenção a Quenza.
- Tenho ordens para que os seus homens deponham imediatamente as armas e regressem a suas casas. O batalhão é dissolvido por ordem do governador da Córsega. Se a ordem não
for acatada, será imposta pela força. Senhor, se não está disposto a ter as suas mãos sujas com o sangue de centenas dos seus compatriotas, sugiro que faça exactamente o que
eu disse.
Os ombros de Quenza descaíram, e ele fez um aceno de cabeça patético.
- Darei a ordem.
- Muito obrigado, senhor - respondeu o major secamente. - Agora tenho outros assuntos a tratar com o outro oficial. Pode ir, senhor.
Quenza atirou um olhar curioso a Napoleão e depois virou-se e afastou-se apressado. O major procurou no interior da casaca e retirou um envelope.
- Dado que o batalhão de voluntários já não existe, a sua patente de tenente-coronel já não se aplica. Perante isso, dirijo-me ao tenente Buona Parte, do regimento de La Fère,
que se porá em sentido face a um oficial superior.
Napoleão endireitou as costas e manteve-se erecto, com as botas unidas e os braços caídos, esticados de cada lado do corpo.
- Sim, senhor.
- Esta mensagem é para si, do Ministério da Guerra. Chegou a Bastia na semana passada. Contém um salvo-conduto para a viagem de regresso. O senhor excedeu o seu período de
licença em cinco meses. Por isso, é-lhe requerido que se apresente no Ministério da Guerra, em Paris. Um daqueles navios parte para Marselha amanhã, à alvorada. É melhor que
siga a bordo, ou terei de prendê-lo e acusá-lo de deserção. Está entendido, tenente Buona Parte?
- Sim, senhor. - Napoleão tentou impedir que a voz tremesse, quando prosseguiu. - O senhor faz alguma ideia do que me espera?
O major sorriu.
- Certamente que sim. Dado que está oficialmente de licença sem permissão e que agora é responsável por várias mortes, causadas por aquilo que me parece ser um acto de traição,
é para mim claro que o ministro da Guerra pouco mais poderá fazer do que mandá-lo fuzilar.
Capítulo 61
Paris, 1792
Desde o momento em que chegou à capital, no final de Maio, Napoleão ficou atónito com as mudanças que, num mero ano e meio, tinham modificado a cidade no coração da revolução.
Compreendendo que as outras nações não deixariam a França adoptar a democracia total, a Assembleia Nacional tinha declarado guerra à Áustria, no final de Abril. Antes que
o mês terminasse, o exército do general Dillon tinha sido aniquilado, e os soldados voluntários tinham assassinado o seu general, quando fugiam do campo de batalha. A carruagem
que trouxera Napoleão desde Marselha tinha feito várias paragens pelo caminho, que lhe deram oportunidade de ler notícias de novas derrotas. Ao chegar à capital, a atmosfera
tensa foi, de imediato, notória para ele.
Ao dirigir-se para o Pays Normandie, Napoleão parou para ler alguns dos cartazes que adornavam cada esquina da capital. A maior parte tinha notícias dos últimos regulamentos
aprovados pela comuna local. Outros relatavam os debates na Assembleia Nacional. Em cada rua havia homens a vender jornais, e faziam-se pequenos ajuntamentos para ler as últimas
notícias da guerra. Da derradeira vez que ele estivera em Paris, só havia uma mão-cheia de jornais, altamente censurados, mas agora existiam imensas publicações, expondo abertamente
todos os pontos de vista, até o dos monárquicos mais retrógrados, ainda em luta para persuadir os parisienses a regressarem à velha ordem do antigo regime.
Quando chegou ao hotel, Napoleão descobriu que o preço dos quartos tinha mais do que duplicado desde a sua estada, e que não havia quartos disponíveis. O dono explicou-lhe
que os deputados da nova Assembleia e respectivas famílias e apoiantes tinham ocupado a maior parte dos hotéis da cidade, e que, por isso, havia uma crónica falta de camas
disponíveis. Sugeriu que Napoleão talvez quisesse tentar Monsieur Perronet, na Rua de Mail, que era amigo dele e ocasionalmente alugava quartos na sua casa a pessoas que lhe
eram recomendadas.
A residência Perronet era logo à saída da Rue Saint-Honoré, perto do Palais-Royal e das Tulherias. Monsieur Perronet era engenheiro e tinha uma casa bem arranjada. Leu a nota
de recomendação, deu uma olhadela ao jovem oficial de artilharia e fez-lhe sinal para entrar. O quarto que alugou a Napoleão era no sótão. Era pequeno e confortável, e a janela
dava para os telhados na direcção do complexo dos palácios que constituíam as Tulherias. Perronet indicou a janela com a cabeça.
- Se escutar atentamente, conseguirá ouvir os lobos a uivar, de tempos a tempos. Isso, ou os membros da Assembleia a insultarem-se uns aos outros.
Napoleão sorriu.
- Já chegámos a isso?
- Ainda não, mas lá chegaremos. - O engenheiro encolheu os ombros, enfadado. - A guerra vai mal, o preço do pão subiu, e a multidão furiosa só quer encontrar alguém, seja
quem for, a quem deitar as culpas. Assim, cidadão, escolheu um belo momento para visitar Paris. Antes de lhe alugar o quarto, tenho de lhe perguntar uma coisa. - Pareceu embaraçado
por instantes, e Napoleão fez-lhe sinal para continuar. Perronet comprimiu os lábios. - Está aqui para defender o rei ou para se opor a ele? É que, se se meter em algum sarilho,
não quero a multidão a cercar-me a casa à sua procura. Tenho uma família jovem, espero que compreenda. Tenho de me certificar de que está em segurança.
- Não estou aqui para defender o rei; estou aqui para me defender a mim próprio, cidadão Perronet. Dou-lhe a minha palavra de que não terá problemas por minha causa.
- Muito bem. Pode ficar com o quarto. São cinco soldos por dia. Dez, se quiser alimentação.
- Só quero o quarto, cidadão.
Napoleão tirou a bolsa das moedas, contou o suficiente para o primeiro mês e entregou-lhe o dinheiro. Teria de ter cuidado com os fundos limitados que trouxera da Córsega.
Só comeria quando fosse necessário. Monsieur Perronet contou as moedas rapidamente, anuiu e saiu do quarto, fechando a porta devagar atrás de si.
Enquanto o engenheiro descia a escada íngreme, e os seus passos faziam ranger os degraus, Napoleão foi até à janela. Pôs os cotovelos no parapeito e olhou por cima dos telhados
e das paredes sujas da capital francesa. O espectáculo de uma grande cidade espalhada em todas as direcções, até ao horizonte nublado, encheu-o de excitação por um momento,
antes de a sua mente regressar à ansiedade e incerteza do seu destino. O fiasco de Ajaccio bem lhe poderia custar a carreira no exército. Até lhe poderia custar a vida. E
Napoleão interrogou-se se deveria ter fugido e ter-se escondido na resistência corsa, como a mãe lhe tinha aconselhado. Poderia facilmente sobreviver durante anos a viver
nas montanhas, bem longe do alcance da lei. Mas toda a sua essência se revoltava contra essa ideia. Ali, em Paris, longe da cena do crime, a sua palavra poderia ser tão eficiente
quanto a dos que o queriam processar.
Quando chegara a Marselha, tinha recebido uma notificação informando-o de que poderiam passar meses até que o seu caso fosse tratado, devido ao início da guerra. Isso deu-lhe
algum tempo para tentar exercer a influência possível no resultado final. E o melhor, para começar, seria uma petição ao deputado mais conhecido da Córsega, António Saliceti.
De acordo com os cartazes nas esquinas das ruas, Saliceti deveria falar a favor da proposta para dissolver a guarda da casa do rei, no dia seguinte.
Tendo isso em mente, na manhã após a sua chegada, Napoleão acordou cedo e engraxou as botas. Penteou o cabelo e apertou-o atrás e depois vestiu o uniforme. Uma curta caminhada
pela rua abaixo levou-o até à larga via da Rue Saint-Honoré, onde se juntou à multidão que se dirigia às Tulherias para assistir aos debates da Assembleia Nacional. Alguns
tinham vindo entregar petições aos deputados, outros simplesmente queriam fazer parte da multidão estacada no exterior do palácio, onde o rei e a família estavam virtualmente
prisioneiros. Ainda outros levavam fruta, vinho e jornais para vender à multidão. Entre eles, havia mercadores a vender cocares revolucionários, boinas vermelhas patrióticas
e pedaços de pedra gravada, alegadamente retirados da Bastilha. Embora a maior parte das pessoas parecesse bem-disposta, Napoleão sentiu uma tensão a correr entre as gentes,
como uma corda de violino demasiado esticada, à espera de se partir, quando sofresse qualquer tipo de pressão.
Acompanhou a multidão até ao Palais-Royal e depois virou, saiu da avenida e dirigiu-se à Place du Carousel. Do outro lado da praça estava uma turba a gritar insultos, agarrada
às grades que circundavam a dianteira dos aposentos reais do Palácio das Tulherias. No outro lado do gradeamento estavam, posicionados em fila, guardas suíços com casacas
vermelhas e chapéus de pele de urso pardo, que os faziam parecer altos e majestosos, que contemplavam a multidão. Napoleão deu a volta ao local e apressou-se em
direcção ao picadeiro, onde estava instalada a Assembleia Nacional. Estava ansioso por chegar a tempo para poder ver Saliceti a falar, para discernir que tipo de homem era,
antes de se aproximar dele.
Virou a esquina, atravessou o Terrasse des Feuillants e deu de caras com uma enorme massa de gente à entrada da Assembleia Nacional. Fileiras de homens da guarda nacional
formavam um cordão e protegiam uma passagem aberta para os deputados e seus funcionários, que iam entrando para a sessão da manhã. Uma entrada lateral dava acesso às galerias
públicas, e Napoleão foi empurrando pessoas para poder chegar à frente, onde estava um sargento encarregado das admissões.
- Com licença!
Napoleão empurrou uma mulher muito aperaltada, que estava, com voz esganiçada, a gritar que lhe tinha sido prometido um lugar na galeria por um dos seus clientes, que era
deputado.
O sargento abanou a cabeça.
- Desculpe, senhora, não me interessa com quem anda a fornicar. Os lugares livres acabaram-se. E agora, a menos que tenha um passe, nada posso fazer.
- Passe? Eu não preciso de passe, parvalhão. - Ela empurrou-lhe o peito com a ponta do guarda-sol. - Deixe-me entrar!
O sargento afastou o guarda-sol e empurrou-a com as mãos. A mulher caiu de costas sobre a multidão, com um grito agudo de pânico e raiva, enquanto todos à sua volta desatavam
às gargalhadas. Napoleão aproveitou o ensejo e colocou-se à frente do sargento.
- Desculpe. Preciso de entrar.
- Onde vai com tanta pressa, cidadão? - O sargento ergueu uma mão e olhou Napoleão nos olhos. - O seu passe?
Por um momento, Napoleão franziu o sobrolho e esteve muito tentado a dar ao sargento um forte raspanete por causa dos seus modos insubordinados. Mas havia qualquer coisa nos
olhos do outro homem que lhe indicava que ele pouco ligaria ao seu estatuto de oficial; por isso, engoliu a fúria e tentou explicar-se.
- Não tenho passe.
- Então, não entra, cidadão.
- Preciso de falar com o cidadão Saliceti, sargento. Estou aqui para o apoiar.
- Saliceti, eh? - O sargento baixou a voz. - É do clube jacobino?
Napoleão anuiu.
- Então onde está o seu cocar? Onde está a sua boina vermelha? Não me parece nada um jacobino...
- Acredite que sou jacobino até ao âmago.
O sargento piscou os olhos o suficiente para lançar um olhar duro a Napoleão. Depois desistiu e ergueu um polegar sobre o ombro dele.
- Está bem, cidadão. Pode entrar.
Napoleão agradeceu com uma inclinação de cabeça e entrou. Uma vez lá dentro, procurou as bancadas mais altas, que ficavam por cima da zona de debates. A maior parte dos bancos
já estava cheia, e os apoiantes das diversas facções agrupavam-se, preparados para aclamarem os seus deputados quando eles falassem. Napoleão acabou por encontrar um lugar
perto da balaustrada e inclinou-se para observar os deputados a tomarem os seus assentos, por debaixo dele. A meio do comprimento do edifício, o presidente e os seus funcionários
agrupavam-se no estrado da presidência da Assembleia, preparando a agenda do dia.
Era fácil identificar as várias facções, quando os deputados se sentaram nas bancadas que delimitavam o largo passeio que cobria o meio do salão. O partido do rei era o mais
bem vestido e com modos mais elegantes e sentava-se à direita do presidente da Assembleia. Em frente ao presidente, estavam os girondinos, os republicanos moderados, que tinham
os lugares mais próximos do chão, ao passo que os deputados mais extremistas se sentavam no topo, nas bancadas mais elevadas e afastadas, para assim demonstrarem o seu desdém.
À esquerda do presidente, sentavam-se os jacobinos, muitos de boina vermelha, proclamando o seu patriotismo militante. Algures, no meio deles, estaria Saliceti.
Uma vez despachados uns tantos assuntos relativos ao funcionamento da Assembleia com o presidente, este anunciou a proposta para dissolver os guarda-costas da família real.
De imediato, os deputados e a assistência nas galerias deram toda a atenção aos acontecimentos. O presidente chamou Saliceti para falar, e um homem alto e pálido logo se levantou
e se dirigiu ao estrado. Prontamente se lançou num alto e, segundo o pensamento de Napoleão, reles ataque retórico ao falhanço do rei em prosseguir a guerra com vigor, questionando
se seria a causa deste falhanço mais sinistra do que o que parecia. Se os apoiantes do rei retinham ambições de esmagar a Assembleia Nacional, então as tropas de protecção
pessoal eram um instrumento à mão com que poderiam levar para a frente essa intenção, argumentava Saliceti. Os que estavam sentados ao pé de Napoleão resmungaram a sua apreensão
em resposta, enquanto os que estavam no fundo da galeria protestaram aos gritos contra as opiniões de Saliceti.
- Monárquicos! - Alguém cuspiu próximo de Napoleão. - Esta escumalha devia ser exterminada.
- Paciência - disse outro. - O seu tempo está a chegar.
Mal Saliceti acabou de falar, Napoleão dirigiu-se à entrada dos deputados na câmara de debates. Filas de homens e mulheres esperavam pela
oportunidade de apresentar petições aos seus representantes, e Napoleão forçou a sua passagem para a frente deles. Mais gritos de protesto e explosões de fúria foram ouvidos
na câmara de debates; e foram aumentando de volume e frequência, até parecer que havia um motim a rebentar lá dentro. Quase perdidos no meio da cacofonia, ficavam os pedidos
do presidente para que houvesse ordem e silêncio e para que os membros retornassem aos seus lugares. Eventualmente, teve de suspender a sessão. As portas abriram-se, e os
deputados apareceram como se fossem uma torrente. Napoleão deu um toque num homem perto de si.
- Isto acontece com frequência?
- A toda a hora - resmungou o homem. - É um milagre alguma decisão ser tomada.
Napoleão suspirou de desprezo e depois fixou os olhos na porta, olhando intensamente até que Saliceti saiu, rodeado pelos membros do partido, que o felicitavam em voz alta
pela sua actuação. Todos menos um: um homem de cara azeda e peruca empoeirada. Napoleão reconheceu a cara instantaneamente e lembrou-se logo de onde: era o homem do encontro
secreto por cima da livraria, dois anos antes. Cidadão Schiller tinha-se autodenominado. Napoleão virou-se de novo para o homem ao pé dele.
- Sabe quem é aquele homem? - apontou.
- É Robespierre. Maximiliano Robespierre, em pessoa.
A surpresa de Napoleão depressa deu lugar ao medo, ao virem-lhe à memória os pormenores totais daquela noite. Ele tinha recusado a oferta de Robespierre para se juntar a eles.
Naquela altura, ele tinha-os considerado uma organização marginal de lunáticos. Agora, Robespierre e os seus seguidores governavam a capital. Robespierre manteve o olhar fixo
em linha recta e avançou rapidamente, sem sequer olhar para Napoleão, quando passou por ele.
Quando os deputados passavam pelos peticionários, Napoleão foi empurrando até ficar mesmo no trajecto do homem que procurava. Saliceti tinha recebido várias petições desde
que saíra do salão da Assembleia e segurava-as num monte junto ao peito.
- Cidadão Saliceti?
Saliceti olhou com atenção ao reconhecer o sotaque corso. Fitou Napoleão com desconfiança e acenou com a cabeça um cumprimento.
- Quem é você, cidadão?
Napoleão fez uma vénia com a cabeça.
- Tenente Buona Parte, ao seu dispor. Precisava de falar consigo. Preciso da sua ajuda.
- Buona Parte? - Saliceti parecia divertido. - Ouvi tudo a seu res-
peito, meu rapaz. E sim, precisa mesmo da minha ajuda. Venha comigo; e já que aí está, pode fazer alguma coisa útil. Leve isto.
Colocou o monte das petições nos braços de Napoleão e seguiu, deixando o oficial de artilharia aflito para conseguir acompanhá-lo e, ao mesmo tempo, segurar todos os envelopes
e folhas de papel.
Poucos minutos mais tarde, estavam sentados no gabinete de Saliceti, que era uma sala pequena e sombria, num edifício em frente ao picadeiro. Saliceti sentou-se, deixando
descair os ombros, numa poltrona de estofos pesados e fitou Napoleão.
- Fez uma terrível trapalhada, tenente. Eu li uma cópia do relatório de Paoli acerca daquele assunto em Ajaccio. O relatório original está com o ministro da Guerra. Tem uma
visão muito negra das suas acções e levaram o assunto ao ministro da Justiça.
- Então, vou ser processado?
- Claro que sim! Querem um tribunal marcial. Parece que não se contentam com nada menos do que a sua cabeça. A sua e a daquele gordo tonto do Quenza. Que raio esperava você?
As suas acções não passam de traição!
Napoleão sentiu-se enjoado. Seria assim que todos os seus sonhos, todas as suas ambições terminariam? Um julgamento rápido e uma execução discreta? Ele devia ter aceitado
o conselho da mãe e devia ter ido para os montes, afinal.
- Penso que quer que eu veja o que posso fazer para dirimir estas acusações? - continuou Saliceti. - De um corso para outro, eh? Embora você, Buona Parte, sempre me tenha
desprezado por nos querer manter unidos a França, não é?
- É verdade - admitiu Napoleão tristemente.
- Compreendo. - Saliceti ficou silencioso por instantes e depois prosseguiu com calma. - Claro que se eu o ajudar, vou querer um favor em troca.
Napoleão não conseguiu discernir como é que um humilde tenente de artilharia alguma vez poderia ajudar uma das maiores figuras da revolução; mas assentiu, de todas as formas.
- Farei o que puder.
- Óptimo. Agora diga-me, já que acabou de chegar da Córsega, que raio anda o Paoli a fazer?
- Paoli? A que se refere, cidadão?
- Chegam-me relatos de que o homem está a governar a ilha como um potencial ditador. Faz todas as nomeações-chave. Controla a maior parte das unidades da guarda nacional (Ajaccio
é a honrosa excepção, graças aos seus famosos esforços, tenente), também me disseram que tem falado
com agentes britânicos. Parece que tão facilmente leva a Córsega para os braços dos ingleses, como adere à revolução.
- Não, ele só quer o que todos os verdadeiros corsos querem.
- E que quer você, Buona Parte?
Napoleão encolheu os ombros.
- Liberdade.
- Liberdade. E em que consiste exactamente essa liberdade?
- Independência. Uma hipótese de nos governarmos a nós próprios.
Somos pequenos de mais para sermos independentes. A Córsega esta Atinada a fazer parte do inventário de um reino ou outro. A única questão que vale a pena debater é que reino
preferimos. Ou a Córsega toma parte na revolução e tem a sua quota-parte de democracia, ou se torna propriedade pessoal de Paoli e dos seus amigos, até que a entreguem aos
ingleses.
Há outra maneira - insistiu Napoleão. - Uma Córsega independente, que abrace os valores da revolução.
Penso que era esse pensamento que estava por detrás da sua tentativa de estabelecer uma comuna em Ajaccio?
Sim - admitiu Napoleão. - Paoli não aceitava, e eu decidi avançar sozinho.
- Meu Deus! Não terá fim essa sua ambição, tenente? - Os olhos negros de Saliceti brilhavam de contentamento. - Seja como for, imagino que agora conhecerá o carácter do nosso
amigo Paoli. É um manipulador Perigoso. Precisamos de o ter debaixo de olho.
- Que quer dizer?
- Nada, por enquanto. - Saliceti sentou-se direito e pegou em papel e Pena. - Verei o que poderei fazer por si, tenente Buona Parte. Agora
o de lhe pedir para se retirar. Tenho de regressar à Assembleia daqui a pouco. Deixe o endereço com o meu secretário, e eu entrarei em contacto consigo, quando tiver notícias.
Napoleão levantou-se da cadeira e dirigiu-se à porta. Parou e virou-"se para Saliceti:
- Acha que consegue mesmo livrar-me das acusações?
- Bem... Se eu não conseguir, ninguém consegue.
Capítulo 62
Uma tarde, perto do fim de Junho, Napoleão estava deitado na cama, debaixo da janela aberta, contemplando um céu azul límpido, quando se apercebeu do barulho de uma multidão
a alguma distância. No início ignorou-o,
mas o volume do som aumentou, e, mesmo sendo impossível discernir gritos ou cânticos, não havia dúvidas de que a raiva dominava os corações dos componentes da turba. Levantou-se
da cama, pegou no chapéu, desceu as escadas e saiu de casa.
Havia pessoas na rua, que, como ele, tinham sido atraídas pelo barulho, e quando todos tomavam a direcção do centro da cidade, o som aumentou em volume e em paixão, até que
se tornou ensurdecedor, ao aproximar-se da Rue Saint-Honoré. O caminho à sua frente estava completamente cheio de uma densa massa de gente, até onde conseguia ver: milhares
de homens e mulheres, armados com espadas, machados, paus e alguns mosquetes, marchavam em direcção aos aposentos reais das Tulherias. Napoleão agarrou no braço de uma jovem,
que seguia na retaguarda da multidão.
- Cidadã, que se passa?
Ela viu o uniforme, deitou-lhe um olhar de hostilidade e depois respondeu:
- Há uma petição ao rei. Vamos dizer ao sacana para aprovar o decreto da Assembleia que penaliza os padres que não jurarem a Constituição. Ele não ouve os deputados, mas vai
ouvir-nos a nós, ou haverá sarilhos...
- Sarilhos?
Ela não acrescentou mais nada e afastou-se com um impulso, mergulhando de novo na multidão e começando a cantar a canção revolucionária Ça ira!4, que ecoava nos edifícios
de ambos os lados da avenida. Sentindo o aumento da excitação e da curiosidade, Napoleão apressou o passo para não perder a turba de vista.
Abandonaram a avenida e desaguaram na Place du Carousel. Os cânticos eram, nessa altura, ensurdecedores, mas Napoleão não conseguia ver o que se passava à frente, próximo
dos aposentos da família real, nas Tulherias. Parou num prédio da praça e trepou para um peitoril de janela, para conseguir ver melhor. A dianteira da turba tinha amarrado
cordas aos portões e, com urros ritmados, puxava as cordas, com a intenção de deitá-los abaixo. Houve uma ovação, quando um dos grandes portões começou a abanar. Napoleão
reparou que um oficial estava a levar a guarda suíça em marcha acelerada para o seu quartel, no lado oposto do terreiro. Uns tantos ficaram para trás a fechar as portas do
pavilhão central, que davam acesso à vasta escadaria dentro do hall de entrada.
Napoleão murmurou para os seus botões a sua reprovação. Percebia que ninguém estivesse interessado em provocar a multidão, mas ela tinha de ser dispersada antes de conseguir
aceder ao terreiro. Mas já era demasia-
4 - Ça ira! significa: Isto irá! No entanto, a tradução mais usada para o título da canção é: Há esperança! (N. da T.)
do tarde. Ouviu-se um estrondo arrasador, e o portão saiu das dobradiças e tombou na praça. Um enorme urro de triunfo encheu o ar, e a turba precipitou-se pela abertura, correndo
pelo terreiro em direcção à entrada do palácio. Quando chegaram às portas, no topo dos degraus de acesso do Terreiro Real, começaram a martelar nas madeiras com martelos e
machados. Mas de nada serviu. As portas eram sólidas e tinham sido reforçadas nos meses recentes, já para prevenir um ataque do género.
De repente, surgiram vários sinais de fumo e depois o estampido seco dos disparos de mosquete. No segundo e terceiro andares do edifício, as janelas estilhaçaram-se, e os
vidros caíram sobre os que estavam por baixo, vítimas da agressividade dos seus companheiros com armas de fogo. O tiroteio prosseguiu por quase um quarto de hora mais, destruindo
todas as janelas e perfurando profusamente a fachada do palácio. Então, um pano branco flutuou numa das janelas, e o tiroteio foi cessando gradualmente. Uma figura apareceu
numa das varandas e gesticulou para a multidão. Os mais próximos responderam aos gritos, e, momentos depois, as portas do palácio abriram-se, e a multidão começou a entrar.
Seria agora, interrogava-se Napoleão, o momento em que a dinastia Bourbon por fim caía, desfeita em pedaços pela turba de Paris? Sentiu um grande pesar e nojo a devorarem-no
por dentro, ao constatar que a França pertencia agora àqueles animais. Era horrível de mais para ser contemplado, mas um fascínio mórbido mantinha-o ali, naquele peitoril
de janela, a esforçar a vista na direcção do palácio distante.
Pouco depois, viu as portas altas de uma das varandas que davam para o terreiro a abrirem-se, e várias figuras foram aparecendo e mostraram-se à multidão. Houve uma ovação.
No meio das figuras, estavam um homem e uma mulher com perucas empoeiradas. O rei e a rainha, concluiu Napoleão, com o sangue a gelar de temor. Mas depressa se viu que não
estavam em perigo de vida. Um homem aproximou-se do rei e enfiou-lhe uma boina vermelha na cabeça. A multidão exultou, e o rei não fez qualquer tentativa para a remover. Em
vez disso, ergueu um copo, fez um brinde qualquer e depois bebeu um trago, e a multidão tornou a aplaudir.
- Tenente Buona Parte?
Napoleão olhou para baixo e viu Monsieur Perronet, com um companheiro, na extremidade da praça. Acenou um cumprimento e desceu da janela para se juntar ao senhorio.
- Uma tristeza - disse Perronet em voz baixa, após ter-se certificado de que não havia ninguém próximo o suficiente para o ouvir.
- De facto - concordou Napoleão.
Perronet voltou-se e apontou para o companheiro.
- O meu amigo, o senhor Lavaux, advogado.
- Um advogado? - Napoleão sorriu. - Parece que a sua profissão vai deixar de ter clientes. Mais uns dias disto, e não haverá leis nenhumas.
Lavaux assentiu.
- É uma vergonha. Como se atrevem estes animais a tratar o rei e a sua família desta maneira? É vergonhoso! - repetiu entre dentes.
- Tem de desculpar o senhor Lavaux - sorriu Perronet. - Ele é um bocado monárquico.
Napoleão encolheu os ombros.
- Não é preciso ser monárquico para se sentir ofendido com tal espectáculo. - Olhou para as figuras distantes na varanda, a serem exibidas à multidão. - Garanto-vos que se
estivesse eu a comandar os guarda-costas do rei, tais coisas não seriam toleradas.
Perronet trocou um rápido olhar de surpresa com o amigo e depois voltou-se para Napoleão.
- E que faria para evitar isso, senhor tenente?
Napoleão contemplou a multidão e semicerrou os olhos.
- Não passam de ralé. Uns estouros de metralha, e fugiriam que nem coelhos. Isso é o que eu faria.
- Talvez - concedeu Lavaux -, mas regressariam. Mais tarde ou mais cedo.
- Então, eu teria as armas carregadas e prontas - respondeu Napoleão. - E mais tarde ou mais cedo, eles compreenderiam a inutilidade de se me oporem.
- Pois. - Lavaux mexeu-se, pouco à vontade, e depois sorriu para o amigo. - Temos de ir, ou chegaremos atrasados ao encontro.
- Eh? - Perronet parecia confuso, mas logo percebeu a intenção do amigo. - Claro. Por favor, desculpe-nos, senhor tenente. Temos de ir. Se me é permitido um conselho, será
melhor sair das ruas.
Napoleão desviou o olhar da varanda distante e sorriu-lhe.
- Mais tarde. Quero ver como isto acaba.
- Então, tenha cuidado.
Perronet acenou um adeus e afastou-se com o amigo.
Quando estavam fora do alcance do barulho, Lavaux virou-se para dar uma última olhadela ao jovem oficial de artilharia, que testemunhava a humilhação pública da família real.
Deu uma cotovelada a Perronet e sussurrou:
- Que diacho achaste tu daquilo: "Se eu estivesse a comandar..."?
Por instantes, riu-se nervoso com a extraordinária soberba do jovem;
a seguir, pôs-se a imaginar por desporto se alguma vez tornaria a ouvir o nome de Buona Parte.
Capítulo 63
O Rei Luís tinha feito uma jogada de mestre, concedeu Napoleão nos dias que se seguiram. O que se poderia ter tornado numa violenta deposição da monarquia, acabou numa festa
pública, que prosseguiu nas ruas bem depois do entardecer. Ao ordenar aos guardas pessoais que regressassem ao quartel, ao usar a boina vermelha e ao brindar à França com
a multidão aglomerada em redor do palácio, Luís tinha-a conquistado e ela tinha-o ovacionado sem limites. Mas, a euforia depressa se desvaneceu, e logo se tornou claro que
uma confrontação decisiva entre o rei e o seu povo tinha sido apenas adiada. O portão foi arranjado, as janelas partidas foram entaipadas, e, enquanto a capital vivia dias
cada vez mais quentes, o palácio foi amplamente fortificado, e a sua guarnição reforçada com voluntários monárquicos que passaram a residir nos quartos do rés-do-chão. Estavam
determinados em não permitir uma repetição do ultraje anterior e ordenadamente guardaram abastecimentos de comida, pólvora e armas, que dessem para aguentar um cerco.
Na Assembleia Nacional, Napoleão assistia com regularidade a debates onde deputados atrás de deputados se erguiam na denúncia à recusa do rei em dissolver a sua guarda pessoal.
Robespierre era o mais proeminente entre todos, e por onde ele seguia, os jacobinos seguiam-no, transmitindo as suas opiniões em tons fervorosos cada vez mais fortes, destinados
a agitar a populaça de Paris.
Pelo meio de toda a tensão crescente, Napoleão quase deixou de se preocupar com a investigação que decorria no respeitante à sua participação no caso de Ajaccio. Até que,
em 10 de Julho, uma mensagem do Ministério da Guerra chegou à residência onde vivia. Quando pegou na carta, todo o medo em relação ao seu futuro regressou e, por instantes,
não se atreveu a quebrar o selo de lacre. Depois, com uma expressão carregada, abriu a carta, desdobrou o papel e começou a ler.
Do gabinete do cidadão Lajard, ministro da Guerra
Datada de 9 de Julho do Quarto Ano da Liberdade
Para o tenente Buona Parte do regimento de La Fère
Com cópia para o cidadão António Saliceti, deputado pela Córsega.
Cidadão, após diligências do cidadão Saliceti, o ministro da Justiça rejeitou ontem as acusações contra si e contra o coronel Quenza, no respeitante ao assalto à guarnição
de Ajaccio, no início deste ano. Em consequência, o comité de artilharia do Ministério da Guerra deu parecer favorável à sua reabilitação como oficial no
activo. Mais ainda, o comité recomendou que, devido às exigências da situação militar, seja promovido ao posto de capitão, efectivo a partir de 1 de Setembro. É-lhe requerido
que permaneça em Paris, pendente de comissão no seu actual regimento ou de outro que possa necessitar dos seus serviços.
Respeitosamente: Cidadão Rocard, secretário do ministro da
Guerra.
Napoleão sentiu uma onda de alívio a envolver-lhe o corpo e logo leu a carta outra vez. A sua carreira estava salva. Melhor do que salva. Tinha sido promovido a capitão. Era
claro que a guerra estava a decorrer tão mal que necessitava dos serviços de todos os oficiais válidos, não obstante os pecados que tivessem cometido. Napoleão sorriu com
a ironia de tudo aquilo. O facto de ter sobrevivido às graves acusações apresentadas contra ele devia-se inteiramente às derrotas da França no campo de batalha. Agradeceu
a Deus pela guerra com a Áustria. Não podia deixar de sorrir. E agradecer a Deus por António Saliceti existir.
Decidiu enviar uma mensagem a Saliceti, expressando a sua gratidão. Entregou a mensagem em pessoa ao secretário de Saliceti e recebeu uma breve nota do deputado no dia seguinte.
Saliceti assumia ter tido apenas uma influência marginal na decisão, mas informava Napoleão de que deveria permanecer em Paris e estar pronto para uma missão especial. Teria
mais pormenores posteriormente, quando Saliceti lhe desse instruções pessoalmente. Mas, até lá, havia uma crise para ser resolvida, e Napoleão foi avisado para ficar afastado
do complexo das Tulherias durante o mês de Agosto. Saliceti nada mais acrescentaria sobre o assunto, de momento.
O aviso era absolutamente claro e de mau agoiro, e, quando Napoleão assistia à celebração do aniversário da tomada da Bastilha, era já óbvio para ele que o sentimento público
tinha mudado e estava agora totalmente contra o rei. Durante dias, as ruas encheram-se de delegações vindas de todo o território, que tinham viajado para Paris para participar
nas celebrações. No meio da multidão, havia milhares de voluntários da guarda nacional, a maior parte dos quais estava destinada a juntar-se ao exército na frente de batalha.
Porém, ao aproximar-se o final do mês, e ao ser concluído o último dos eventos oficiais, vários milhares de voluntários permaneceram na cidade, destacados perto do centro.
Napoleão não tinha dúvidas de que a presença deles era parte integrante de uma qualquer conspiração mais vasta, agora que o rei e a Assembleia convergiam cada vez mais próximos
da confrontação declarada.
Nos primeiros dias de Agosto, os pregões dos vendedores de jornais encheram as ruas com informações acerca de um documento extraordiná-
rio, emitido pelo comandante do exército prussiano, o duque de Brunswick. Os prussianos estavam a invadir a França para acabar com a anarquia e restaurar a autoridade do rei.
Qualquer civil que se opusesse ao exército seria executado de imediato, e se o povo de Paris fizesse mais ataques às Tulherias, ou ameaçasse o rei ou a rainha, nesse caso,
o duque de Brunswick ordenaria a aniquilação da cidade inteira.
- Alguém iria pensar que o rei estaria do lado do inimigo - protestou Napoleão a Monsieur Perronet, no dia após as notícias acerca do documento de Brunswick terem chegado
a Paris. Estavam sentados na sala de visitas do engenheiro, lendo uma selecção dos jornais dessa manhã.
- Talvez esteja. Quem pode criticá-lo? O inimigo ofereceu-lhe a única hipótese de reaver o controlo da França.
- Isso é absurdo! - Napoleão abanou a cabeça. - Se a autoridade dele for exercida por soldados estrangeiros, ele estará simplesmente a comandar um exército de ocupação. O
povo nunca o aceitaria. Nunca.
- A menos que o Rei Luís seguisse o seu conselho do outro dia e esmagasse a ralé. - Perronet suspirou. - Parece que o rei tem de se converter num tirano para evitar ser destruído.
Napoleão deu ao assunto uns instantes de reflexão e depois anuiu.
- Tem razão. Chegámos a esse ponto. Antes de podermos ganhar as guerras com a Prússia e a Áustria, tem de haver uma guerra entre o rei e o povo.
Capítulo 64
10 de Agosto
Napoleão foi despertado do seu sono pelo som de uma distante rajada de mosquetes. Quando chegou à rua e começou a correr na direcção do barulho, as rajadas eram contínuas.
Passou pela montra de um relojoeiro e viu que acabavam de ser oito horas. O tiroteio estava a começar a atrair pessoas para as ruas, e todos corriam para o local de onde o
som provinha.
Foi então que um pequeno grupo de homens emergiu da Rue des Petits Champs, correndo contra a corrente. No meio, um homem segurava uma estaca. Uma cabeça tinha sido espetada
na ponta, e o sangue escorria pela madeira abaixo. Napoleão parou e ficou especado com aquela visão de horror, enquanto os homens desciam a rua aos gritos de:
- Viva a França! Longa vida à Nação!
Nesse instante, um dos elementos do grupo viu o uniforme de Napoleão e esticou o braço, apontando para ele.
- Cidadãos! Vejam! Um soldado!
A horda mudou de rumo, aproximou-se e cercou Napoleão. O homem que o detectara chegou-se à frente. Numa mão tinha um machado cheio de sangue e ergueu-o para Napoleão.
- Tu! Tu és um oficial do exército. Do exército regular.
Napoleão assentiu, esforçando-se por não olhar para a cabeça, que era
agitada de lado a lado por cima do grupo de homens.
- Tenente Buona Parte - Tentou dar ares de quem tinha alguma autoridade. - Que significa isto? Que se passa aqui?
- Silêncio! - O homem apontou o machado na direcção da cara de Napoleão, manchando-lhe a casaca com salpicos de sangue. - És um monárquico! Vejo-to nos olhos.
A loucura da turba parecia ter possuído o discernimento do homem, e Napoleão apercebeu-se de que estava a minutos de ser morto ali mesmo, a não ser que conseguisse controlar
a confrontação. Tentar ser racional seria suicídio. Só a loucura poderia enfrentar a loucura. Empurrou o topo do machado para o lado e espetou o dedo no peito do homem:
- Como se atreve a chamar-me monárquico? Sou jacobino! Jacobino, está a ouvir bem?
O olhar de loucura do homem estremeceu, e ele hesitou por instantes, antes de tentar readquirir o controlo da situação.
- Muito bem, cidadão. Então, diga-me, por quem é? Rei ou Nação?
- Longa vida à Nação! - Napoleão ergueu o punho no ar. - Longa vida à Nação!
Os outros repetiram o grito, e o seu chefe contemplou Napoleão por um momento, até se considerar satisfeito. Ergueu o machado e apontou para a rua de onde se tinham desviado.
- Vamos, rapazes! Por ali!
Napoleão permaneceu imóvel, enquanto o grupo passava por ele a correr, contra a corrente da multidão que se dirigia ao Palácio das Tulherias. Depressa deixaram de se distinguir
no meio da massa de gente; apenas o seu troféu repulsivo assinalava a progressão, à medida que iam passando palavra de que uma batalha estava a decorrer no centro da cidade.
Napoleão prosseguiu, com o coração acelerado. Quando chegou à Place du Carousel, viu que o gradeamento de ferro tinha sido deitado abaixo e que, mais adiante, no Terreiro
Real, uma nuvem de fumo de pólvora pairava no ar. Dentro da nuvem, uns lampejos brilhantes de chama alaranjada tremelicavam, iluminando um pouco as estacas e as baionetas
da turba que se aproximava da entrada do palácio. Napoleão atravessou a praça a correr e viu os primeiros corpos estendidos nas pedras do chão: uns tantos homens da guarda
nacional, um civil e o corpo mutilado de um guarda suíço.
Na esquina da praça, havia uma loja de mobílias, com um aviso na janela que informava estar fechada por motivo de negócios. Mas a multidão já tinha arrombado a porta e saqueado
o interior. Pedaços de vidro partido estalaram sob as suas botas, quando entrou. Atravessou a loja e subiu as escadas nas traseiras. Quando chegou ao segundo andar, encontrou-se
num armazém e dirigiu-se à janela. Como antecipara, a janela dava-lhe uma panorâmica nítida do palácio.
Os guardas suíços tinham formado uma linha de quatro homens a toda a extensão da entrada do palácio e, nesse mesmo instante, dispararam uma rajada sobre a densa multidão dentro
do terreiro. Quando o estrondo da rajada ecoou por toda a praça, ouviu-se um urro gutural da turba, que logo se transformou num grito de raiva e a fez avançar de novo. Outra
rajada de fogo saiu das fileiras da guarda suíça de casacas vermelhas, e depois começou a luta corpo a corpo com a multidão. Contra tal desvantagem, só havia uma saída, e
a guarda suíça foi forçada a recuar para os degraus e para o interior do palácio. Instintivamente, Napoleão olhou para a varanda dos aposentos reais, onde o rei tinha aparecido
umas semanas antes. Se a família real ainda lá estivesse, certamente, desta vez, seria assassinada sem misericórdia.
Napoleão regressou à praça a correr. Parou um instante, receoso de que o uniforme atraísse atenções indesejadas de novo. Depois, viu um cocar revolucionário no chapéu de um
dos guardas nacionais que tinham sido abatidos na praça. Removeu o bicórneo da cabeça, foi até junto dele, desprendeu o cocar, prendeu-o no topo do seu chapéu e correu em
direcção à entrada do palácio. Quando chegou à ruína de metal entrançado em que se tinha tornado o portão principal, a maior parte da turba já entrara no edifício e assaltava
agora os aposentos reais. O som abafado de disparos de mosquetes revelava a resistência desesperada, que ainda se levava a cabo dentro do palácio. O terreiro parecia um campo
de batalha. Montes de corpos jaziam no chão. Muitos com o uniforme da guarda nacional, mas a maioria era da guarda pessoal do rei, exterminada como gado quando tinha procedido
à retirada para a entrada do palácio. As lajes na frente do palácio estavam salpicadas de sangue. Com um olhar de desgosto, Napoleão foi andando pelo meio da carnificina até
aos degraus da entrada.
Antes que lá chegasse, ouviu guinchos triunfantes, e três mulheres apareceram por detrás de um dos frontões ao fundo da escadaria, arrastando uma pequena silhueta de casaca
vermelha e calções brancos da guarda suíça. Não teria mais de doze anos, e devia ser um dos rapazes do tambor, concluiu Napoleão. As mulheres arrastaram-no para os degraus
da entrada, depois uma procurou dentro da sacola e retirou de lá um grande cutelo. Logo que o rapaz o viu, gritou aterrorizado. Avistou Napoleão e estendeu-
-lhe as mãos com os dedos abertos, suplicando por ajuda. Mas as mulheres atiraram-no ao chão e puseram-lhe a cabeça num degrau. O cutelo desceu e caiu sobre o pescoço com
um estalar de ossos molhado, que pôs termo aos gritos do rapaz. Depois, o cutelo a escorrer sangue subiu e desceu de novo, repetidas vezes, até que uma das mulheres se levantou
e exibiu a cabeça do rapaz, enquanto um rio de sangue corria dos degraus para o empedrado do chão. Arrancaram uma estaca extremamente afiada de um dos cadáveres que enchiam
o chão em frente aos degraus, e a mulher espetou a pequena cabeça na ponta; a seguir, agarrando na base da estaca, elevou-a bem alto com um grito de alegria, e as três seguiram
para a Place du Carousel. Napoleão olhou-as, mudo de terror, quando passaram por ele, e recusou-se a retribuir as saudações que elas lhe dirigiram.
Voltou-se para o palácio e subiu as escadas sujas de sangue e cobertas de corpos. No limiar do majestoso hall de entrada, parou. Os gritos de quem estava no interior ainda
ecoavam no espaço cavernoso, e ainda havia disparos esporádicos. Os derradeiros soldados suíços a defenderem os aposentos reais tinham assumido a posição final de resistência
na escadaria, onde os seus corpos se amontoavam irregularmente. À volta estavam os corpos de alguns dos atacantes, muitos agarrados às vítimas, mortos enquanto lutavam sem
armas. Napoleão não queria ser confundido com um monárquico naquele uniforme de artilharia, e apressou-se a seguir para o terraço nas traseiras do palácio. As portas do fundo
estavam abertas.
Chegado ao terraço, encontrou-se perante uma cena do pior dos pesadelos. A vasta área dos canteiros ornamentados e dos relvados dos jardins das Tulherias estava cheia de figuras
a correr em todas as direcções. Homens de uniforme vermelho fugiam para salvar as vidas. Pequenos grupos de civis e homens da guarda nacional perseguiam-nos e abatiam-nos
sem piedade. Uma pinta de escarlate nos ramos de uma árvore, a uns cento e poucos passos dali, atraiu a vista de Napoleão, e ele reparou que um dos guardas suíços tinha trepado
para os ramos mais altos, para tentar escapar aos perseguidores. Em baixo, uma pequena horda gritava de raiva e fazia gestos ao homem para que descesse. Então, um dos homens
da guarda nacional aproximou-se. Ergueu o mosquete e calmamente fez pontaria ao soldado suíço, como se estivesse a caçar uma ave. Houve um relampejo e uma nuvem de fumo, antes
de o estampido chegar aos ouvidos de Napoleão. O homem na árvore tremeu e equilibrou-se no ramo por instantes, à medida que uma brilhante mancha vermelha se espalhava sobre
as frentes brancas do seu uniforme. Depois, as pernas falharam-lhe, deixou de ter força para se manter agarrado e caiu pelos ramos abaixo, como uma boneca de trapos. Tombou
no chão, e foi logo submergido pela turba.
Atrás de si, um estalido na gravilha do terraço fez com que Napoleão
se sobressaltasse e se virasse. Um homem da guarda nacional apontava-lhe o cano de um mosquete, mas sorriu, logo que viu o cocar, e baixou a arma.
- Desculpe, senhor. Pensei que era um monárquico... Parece que isto acabou - disse o homem, ao aproximar-se de Napoleão, olhando para os jardins. - Ganhámos. Paris é nossa.
- Que grande vitória - murmurou Napoleão, enquanto percorria com o olhar os campos de extermínio das Tulherias. - Sabe o que aconteceu à família real?
O homem riu-se de gozo.
- O Luís desistiu, mal deitámos abaixo o primeiro portão. Pegou na família e foi procurar abrigo no picadeiro. Nem se preocupou em avisar os seus homens até quando já era
demasiado tarde. Hoje ele tem as mãos sujas de sangue.
- Parece que sim. - Napoleão apontou com a cabeça para a turba nos jardins. - Imagino que os deputados não possam proteger o rei por muito mais tempo.
- Rei? Ele já não é rei! Não, a partir de hoje. Ouça o que lhe digo, tenente: a monarquia acabou, e nem o duque de Brunswick poderá fazer seja o que for contra isso.
Napoleão lembrou-se do destino que o comandante prussiano tinha prometido à cidade, se as Tulherias fossem atacadas.
- Rezo para que tenha razão, cidadão.
Napoleão já tinha visto o suficiente, mais do que o suficiente até. Quando fora para o exército, nunca imaginara que a primeira visão de um campo de batalha fosse ali, no
meio da grandeza do palácio mais rico da Europa. E nunca tinha imaginado que seria como uma visão do Inferno. Então, era isto o que acontecia quando o povo se descontrolava?
Não obstante a sua simpatia pelo sofrimento das classes mais pobres da sociedade francesa, não encontrava justificação para a cena à sua frente. Nem conseguia estancar a amarga
sensação de nojo que o devorava por dentro. Napoleão acenou com a cabeça uma despedida ao soldado da guarda nacional e afastou-se dali, deixando o homem a saborear a sua vitória.
Capítulo 65
Dois dias após o massacre da guarda suíça, Saliceti mandou chamar Napoleão. Quando chegou ao gabinete do deputado, ficou à espera durante mais de uma hora, antes de Saliceti
aparecer, por fim, aparentando estar exausto. Passou por Napoleão, fez-lhe sinal para que o seguisse até ao gabinete e depois fechou a porta atrás deles e deixou-se cair na
poltrona, por detrás da secretária.
- Aqueles tolos da Assembleia Nacional querem suspender o rei.
- Suspender? - Napoleão ficou atónito. - Como é que eles vão conseguir fazer isso?
- Com uma corda, idealisticamente falando. - Saliceti deu uma gargalhada. - Antes fosse! Não, eu queria dizer que eles se recusam a depô-lo. Ainda não conseguem entender que
é ele ou nós, no final de cada dia. De qualquer forma, está fora das mãos deles daqui em diante.
- A que se refere?
- A comuna de Paris encarregou-se do rei. A Assembleia pode dizer o que quiser, mas Luís é um prisioneiro da comuna, e eles não o vão entregar até terem o que querem.
Napoleão mexeu-se, pouco à vontade.
- Que vai acontecer ao rei?
- Ele e o resto da família estão detidos numa das torres do Templo, até que o seu destino seja decidido. Se os jacobinos vencerem, ele será deposto, julgado como traidor e
depois... - Saliceti acenou com as mãos.
- E depois, vemo-nos livres dele.
Napoleão mordeu o lábio. Não obstante os gritos de denúncia que ouvira nas ruas desde o massacre, poucos tinham pedido a morte do rei, apenas exigiam que fosse removido do
trono. Mas, isso eram desejos irrealistas. Enquanto vivesse, Luís seria um perigo para a nova ordem francesa.
- De qualquer maneira - Saliceti interrompeu-lhe os pensamentos -, não o mandei chamar aqui para discutir o destino de reis. Essa é a minha profissão. Está na altura de me
pagar o favor que me deve. Tenho uma missão intricada para si. Não vai gostar, e é perigosa. Tanto para si, quanto para a sua família. Tem de perceber isso, antes que lhe
explique seja o que for. - Os olhos negros de Saliceti fixaram-se em Napoleão. - Embora estejamos desesperados com a falta de oficiais profissionais no exército, não o vou
mandar regressar ao seu regimento.
Napoleão abriu a boca para protestar. Tinham-no mantido desocupado em Paris, enquanto o regimento teria, sem dúvida, sido chamado para lutar na defesa da França, e ele estava
desejoso de se lhe juntar. Queria ser posto à prova como soldado e, para ser honesto consigo mesmo, queria ganhar alguma glória. Saliceti ergueu a mão para evitar o protesto
de Napoleão.
- Já decidi. Tem de ser você. Um oficial de artilharia, a mais ou a menos, pouca diferença fará no resultado da guerra. Mas um Buona Parte no sítio certo, será de valor incalculável
para mim e para a França.
Napoleão olhou-o desconfiado.
- Que quer exactamente que eu faça?
- A sua promoção a capitão terá efeito imediato. Depois, quero que regresse à Córsega. Quero que descubra o que Paoli anda a tramar. Se puder, quero que o desestabilize por
todos os meios ao seu alcance.
- Quer que eu seja um espião? - perguntou Napoleão, em voz baixa.
- É assim tão terrível? - Saliceti esboçou um sorriso. - Por favor, ponha de lado esse ar de desgosto, meu caro jovem. O que quer que pense a meu respeito, tenho uma qualidade
que é inquestionável: sou um excelente juiz de carácter. Após ter lido o relatório das suas actividades em Ajaccio, mandei pedir o seu processo completo ao Ministério da Guerra.
É uma leitura interessantíssima. É óbvio que é um oficial extraordinário, mas outra coisa foi evidente para mim, quando reuni todos os registos a seu respeito. Você é o tipo
de homem que possui uma ambição pessoal que ultrapassa o seu patriotismo. É esse o tipo de homem de que agora preciso. Como é? Acha que o avaliei mal?
Napoleão fixou-o com o olhar. De início, sentiu-se insultado. Depois, apercebeu-se de que Saliceti vislumbrara para além das aparências e de que o deputado tinha razão. Napoleão
sentira o toque do destino no ombro, e, quando um homem passa por essa experiência, as regras e os valores, que atam as mãos de homens comuns, já não se lhe aplicam.
- Muito bem. Regressarei à Córsega. E serei o seu espião.
Saliceti esboçou um sorriso vagarosamente.
- Claro que será.
Capítulo 66
- Senhor - disse Napoleão pacientemente -, temos de preparar as defesas da ilha. A França já está em guerra com a maior parte da Europa. Se a Grã-Bretanha se coligar com os
nossos inimigos, teremos de enfrentar a marinha mais poderosa do mundo.
- A defesa da Córsega é uma preocupação francesa - disse o general Paoli. - Porque têm os nativos da ilha de ser sobrecarregados com a tarefa de transformar o seu lar numa
fortaleza? Particularmente contra uma nação como a Inglaterra, que tem sido nossa aliada nas lutas de libertação.
- Sorriu. - Não se esqueça, meu caro Napoleão, de que foi a Grã-Bretanha que me ofereceu abrigo, quando o seu pai e eu fomos derrotados em Puonte Nuovo.
- Eu tenho conhecimento disso, senhor. Mas os tempos mudaram. Se a França e a Grã-Bretanha entrarem em guerra, a Córsega tornar-se-á num activo de estratégia vital para qualquer
uma das nações que domine a ilha.
Paoli deitou-lhe um olhar duro.
- Ainda não há muito tempo, você estava determinado a libertar a Córsega dos franceses.
Napoleão encolheu os ombros,
- No presente, é do nosso melhor interesse ficar ao lado da França.
- Só no presente?
- Como disse, a situação mudou. É provável que mude de novo.
- Já entendi tudo. - Paoli sorriu. - Só passaram alguns meses desde que você abandonou a Córsega com a reputação em cacos. Agora é capitão do exército regular e, dado que
os voluntários de Ajaccio foram reintegrados, é também, de novo, coronel dos voluntários. Que grande oportunista você me saiu, meu rapaz!
Napoleão fitou-o em resposta.
- Se assim o diz, senhor. Quer discutir o meu relatório acerca das defesas da ilha?
Não esperou por uma resposta e estendeu o mapa em cima da mesa, no ostentoso gabinete de Paoli no palácio nacional. Enquanto Napoleão sacava o caderno de anotações do seu
alforge, Paoli foi até à porta que dava para a varanda. Embora fosse no início de Janeiro, as portas estavam abertas e a sala estava fria. O general era admirador do ar fresco
e puro da montanha. Por debaixo da varanda, a cidade de montanha de Corte estendia-se por um labirinto de ruas. Num lado, erguia-se a velha fortaleza que tinha protegido a
cidade durante séculos, levantada no cimo de uma elevação rochosa escarpada. Montanhas despidas circundavam Corte, cujos picos estavam cobertos de neve branca de brilho ofuscante.
O general Paoli respirou fundo e virou-se para Napoleão com outro sorriso.
- Por muito que apreciasse a hospitalidade dos meus anfitriões britânicos, não passou um único dia em que não sonhasse regressar aqui, às montanhas de Corte.
- Eu compreendo-o, senhor. Eu sentia o mesmo quando estava a estudar em França. Está-nos no sangue. Para onde quer que transplantemos um corso e por mais que lá o mantenhamos,
no final do dia ele será sempre um corso.
Paoli olhou para ele.
- Muito bem dito, meu jovem. Há vezes em que me faz lembrar o seu pai.
Napoleão ficou sensibilizado.
- Muito obrigado, senhor. Espero poder honrar a memória dele.
- E honra. Estou certo de que Carlos ficaria orgulhoso em ver no que se transformou o seu filho. E agora está encarregado de verificar as de-
fesas da ilha para o governo francês. O Ministério da Guerra deve ter uma grande confiança em si.
Napoleão mexeu-se, pouco à vontade. A inspecção era uma cobertura arranjada por Saliceti para ocultar o real motivo por detrás do seu regresso à ilha.
O Ministério da Guerra, temendo que a Grã-Bretanha fosse inevitavelmente arrastada para a guerra contra a França revolucionária, há muito que se preocupava com o destino da
Córsega. Se a ilha fosse tomada à França, podia ser usada como base para atacar a costa sul ou para intervir em Itália. Daí que surgissem ordens para que uma inspecção aturada
das defesas fosse levada a cabo, e Saliceti só teve de colocá-la nas mãos do capitão Buona Parte.
Napoleão tinha sido muito diligente a executar a tarefa. Depois de regressar a Ajaccio e de apresentar a confirmação de Saliceti do seu posto no batalhão de voluntários, gastou
até ao Natal a percorrer a ilha, a fazer sondagens nos portos principais, a marcar cuidadosamente as posições potenciais para as baterias na costa e a falar cautelosamente
com as pessoas, onde quer que estivesse. Embora Paoli se comportasse como um ditador, a maior parte dos corsos era-lhe leal. No entanto, essa lealdade era temperada pela simpatia
pela revolução, e todas as principais vilas e cidades de ilha mantinham clubes políticos que eram dominados pelos jacobinos. Não havia a certeza do que aconteceria se Paoli
tentasse cortar os laços com a França.
Napoleão abandonou os pensamentos e virou a atenção de novo para o relatório. Dele constava também um mapa minucioso da Córsega, profusamente anotado pela caligrafia trapalhona
de Napoleão.
- Conto que não esteja à espera que eu leia isso - disse Paoli.
Napoleão abanou a cabeça.
- Não vai ser necessário, senhor. Assumo que tenha lido a cópia do relatório que lhe enviei.
- Ah, sim. Mandei um dos meus oficiais fazer uma leitura e depois apresentar-me um sumário. Um trabalho muito completo, e concordo com as suas conclusões. A defesa dos portos
principais deve ser uma prioridade. Darei precedência ao seu relatório na próxima reunião do Conselho de governo. Isso será em Março.
- Março? - Napoleão deitou ao general um olhar crítico. - Podemos já estar em guerra com a Grã-Bretanha nessa altura.
Paoli encolheu os ombros.
- É o melhor que posso fazer. O Conselho levará o seu relatório em consideração e se decidir avançar com o cumprimento das suas recomendações, precisaremos de inventariar
os custos e depois submetê-los
ao comité do Tesouro para aprovação. E depois os trabalhos começarão.
- Compreendo - disse Napoleão em voz baixa. - E quando, exactamente, virá a ser isso, senhor? Preciso de saber, para informar o Ministério da Guerra.
Paoli comprimiu os lábios, olhou para o tecto e depois lá respondeu.
- Realisticamente... no final do ano. Na melhor das hipóteses.
- Não me parece que Paris fique muito satisfeita com isso, senhor.
- É o que se arranja. E não há nada mais que eu possa fazer.
- Muito bem, senhor. - Napoleão fez uma vénia com a cabeça.
- Informarei desde já o Ministério da Guerra da sua estimativa do tempo necessário.
- Faça isso - respondeu Paoli, neutral. - E agora, se arrumar os seus relatórios, poderemos tratar de outros assuntos.
- Sim, senhor.
Napoleão interrogou-se acerca do que poderiam ser esses outros assuntos. Quando tinha sido convocado, há três dias, em Ajaccio, o general Paoli tinha meramente solicitado
discutir os resultados da inspecção às defesas da Córsega.
- Pode deixar ficar o mapa. Vamos precisar dele. - Paoli foi direito à porta, abriu-a e disse a um dos seus funcionários: - Diga ao coronel Co-lonna que estamos prontos para
o receber agora.
Quando Paoli regressava à mesa, Napoleão interrogou-o com o olhar. Tinha conhecido Colonna recentemente. Era o comandante da guarnição de Bastia e Napoleão tinha-se-lhe dirigido,
solicitando que alguns engenheiros fossem destacados para a sua pequena equipa de inspecção, mas Colonna tinha recusado o pedido. Paoli notou a expressão no seu rosto.
- Tudo será claro para si nos próximos minutos. Enquanto esperamos pelo meu sobrinho, tenho uma coisa para lhe perguntar, coronel.
Era a primeira vez que Paoli condescendia a tratá-lo pela patente dos voluntários e não pela patente de capitão do exército regular, e Napoleão ficou imediatamente de pé atrás.
- Que se passa, senhor?
- Esta guerra que a convenção está a travar com a Áustria e a Prússia; que hipóteses tem a França de a vencer?
A mente de Napoleão acelerou para organizar os seus pensamentos.
- Depende. Até agora as unidades da guarda nacional fizeram fraca figura, mas há planos para as fundir com os regulares nos próximos meses. Logo que isso aconteça, os nossos
exércitos lutarão de forma bem mais efectiva. De momento, temos falta de bons oficiais. Muitos dos aristocratas renunciaram às suas comissões e emigraram. Mas há homens bons
a emergirem das fileiras e muitos outros a serem treinados. É tudo uma questão
de tempo. Se conseguirmos conter o inimigo durante cinco ou seis meses, então, teremos todas as hipóteses de vitória.
- Contra a Áustria e a Prússia, sim. Mas o que acontecerá se a Grã-Bretanha e outras nações declararem guerra à França? Como certamente o farão, se algo de mau acontecer ao
Rei Luís.
Napoleão anuiu. Não fazia sentido evitar o assunto. As últimas notícias de Paris diziam que a convenção, o executivo revolucionário, tinha decidido acusar o rei de traição.
O melhor que ele poderia esperar era o exílio, mas a prisão perpétua era o resultado mais provável, embora uns tantos líderes jacobinos clamassem pela sua cabeça. Mas se matassem
o rei, os inimigos da França multiplicar-se-iam de um dia para o outro, e como poderia uma nação vencer tantas outras? Napoleão resolveu responder à pergunta do general Paoli
com honestidade.
- Nesse caso, não poderemos vencer. A menos que toda a nação se pusesse ao serviço do exército. E mesmo assim, eles teriam de ser comandados pelos mais extraordinários generais
do nosso tempo.
- Hélasl Estou demasiado velho para tais deveres. - Paoli sorriu e depois deu uma gargalhada. - Claro que estou a brincar. - Franziu o sobrolho quando viu o alívio a perpassar
pelo rosto de Napoleão. - Estou certo de que a vossa geração produzirá alguns comandantes úteis. Talvez você venha a ser um deles.
Por um momento, Napoleão sentiu-se tentado a responder modestamente, mas já se tinha sentido irritado com a resposta cavalheiresca que Paoli dera ao seu relatório acerca das
defesas da Córsega.
- Tenho a certeza de que todos os bons oficiais compartilham desse desejo, senhor.
- Fico feliz ao ouvir isso. Mas tem de admitir que as hipóteses de a França levar para a frente uma guerra com êxito são mínimas, de facto. Em todo o caso, alguns podem argumentar
que será do melhor interesse da Córsega não estar no lado dos perdedores.
- Alguns podem argumentar isso, de facto.
- E você? O que pensa? Pergunto-lhe, de um corso para outro.
Napoleão sentiu um arrepio a percorrer-lhe a espinha. Que pretendia
Paoli? Seria aquilo uma espécie de teste de lealdade? Se assim fosse, qual seria a resposta mais segura? Tinha de ter cuidado. Se Paoli estava tentado a declarar a independência,
então ele tinha de fingir que o apoiava, até que a família pudesse sair de lá em segurança. Se, por outro lado, estava a testar a lealdade de Napoleão, com vista a fazer um
relatório para enviar a Paris, então ele teria de acreditar que qualquer frase pró-independência a que ele desse apoio fosse vista como um expediente por Saliceti. Napoleão
pigarreou.
- Penso que a Córsega precisa da França, por agora. Somos como uma cabra rodeada de lobos. A nossa única salvação reside em alinharmos com o lobo mais forte. Além de que nenhuma
outra potência toleraria as reformas sociais que o nosso povo está a começar a gozar.
Paoli olhou para Napoleão com intensidade duplicada.
- E o que acontece quando as bestas tiverem lutado entre si, e a mais forte ficar com a presa? Que esperança existirá então para a sua cabra?
Napoleão conseguiu sorrir a tal predicamento.
- Nesse caso, terei esperança de que o lobo tenha comido o suficiente e despreze um enchido de ossos.
Paoli riu-se e inclinou-se para lhe dar uma palmada no ombro.
- Na verdade, você está na profissão errada. Que advogado ou político se perdeu, quando decidiu tornar-se soldado.
O calcar de botas pesadas acabou com o diálogo, e ambos olharam para a porta. Um homem alto, com botas de montar pelas coxas, entrou na sala e fez continência a Paoli, mas
ignorou Napoleão. Tinha o cabelo negro apertado atrás com uma fita azul. Era de grande estatura e porte e projectava uma confiança que raiava a arrogância, e Napoleão logo
se recordou de quanto lhe tinha desagradado o homem quando se encontraram em Bastia.
Paoli fez as reapresentações.
- Coronel Colonna, já conhece o tenente-coronel Buona Parte do batalhão de voluntários de Ajaccio.
- Sim, senhor. - Voltou-se para Napoleão. - Ou prefere que me dirija a si como capitão de artilharia?
Napoleão tentou controlar um ataque de fúria.
- Como presentemente me encontro na Córsega, em serviço no batalhão e a trabalhar para os melhores interesses da ilha, seria conveniente referir-se à minha pessoa pelo meu
posto local, não concorda, senhor?
Colonna encolheu os ombros.
- Se assim o deseja.
- Desculpe o meu sobrinho - interrompeu Paoli, com um olhar duro na direcção de Colonna. - Ele tem andado muito ocupado a planear a operação.
- Operação?
Paoli sorriu.
- Você estava tão ocupado com a sua inspecção, que pensei não ser correcto distraí-lo. Recebemos instruções do Ministério da Guerra, em Paris, para cooperar na campanha contra
o reino de Piemonte. A França precisa de proteger o seu flanco sul e, portanto, tem a intenção de enviar um
exército para Piemonte. A força mais importante atacará de Nice e de Savoy. A nossa contribuição será capturar a Sardenha.
Para a mente de Napoleão foi um choque.
- Quando foi informado disso?
- Antes do Natal. Temos estado ocupados a organizar os homens e os mantimentos precisos, desde então. Agora temos de pensar num plano.
Antes do Natal. Napoleão ficou furioso. Porque não fora avisado por Saliceti? Escreveria ao deputado na primeira oportunidade e descobriria porquê. Entretanto, Paoli fizera
sinal a Colonna para se reunir a eles, junto ao mapa. Colocou tinteiros nos cantos, e a Sardenha ficou à vista.
- Só para que saiba o que se passa, Buona Parte, a frota do almirante Truguet, em Toulon, providenciará o transporte das nossas tropas. Recebemos instruções para levarmos
seis mil homens. Escusado será dizer que isso esvaziará a maior parte das guarnições da Córsega, que ficará sem protecção, mas Paris parece não querer levar isso em consideração.
A questão é esta: onde atacar primeiro? Gostaria de ouvir a sua opinião.
Napoleão debruçou-se sobre o mapa. Ele já sabia o que ia dizer. Tinha feito menção a isso, num apêndice do seu relatório. Duas ilhas proeminentes estavam marcadas acima da
costa norte da Sardenha.
- Maddalena e Caprera.- Bateu com o dedo nos nomes. - Temos de as tomar antes de desembarcar na Sardenha. Logo que o inimigo tome conhecimento de que a França vai lançar um
ataque, certamente fortificará as ilhas e lá colocará armas pesadas. Com isso feito, controlará o Estreito de Bonifácio e conseguirá evitar qualquer desembarque no Norte da
Sardenha. Mas, se nós nos movermos com rapidez, poderemos controlar as ilhas antes que o inimigo se aperceba do perigo. Montamos lá as nossas baterias, e o Estreito fica sob
o nosso controlo.
Olhou para cima, a tempo de ver Paoli e o sobrinho a trocarem um olhar de satisfação. Depois, os olhos de Paoli estremeceram de contentamento ao fitarem Napoleão, e acenou
com a cabeça.
- Era isso mesmo que estávamos a pensar, Napoleão. Estou radiante que estejamos de acordo. Uma pequena força será suficiente para esse ataque. Digamos, um batalhão.
Napoleão sentiu um despontar de excitação. Esta era a oportunidade dele.
- Senhor, posso solicitar que o batalhão de Ajaccio tenha a honra de efectuar o ataque?
Paoli sorriu.
- Estava à espera que dissesse isso. Sugiro que regresse a Ajaccio e prepare os seus homens, logo que tenha completado os planos.
- Quando aconteceu? - perguntou Napoleão.
- No dia 21 de Janeiro - respondeu José, atirando o jornal ao irmão, por cima da mesa.
Napoleão tinha-se apercebido de que algo importante tinha ocorrido, no momento em que entrou em Ajaccio. As ruas estavam quase desertas, e ele apressou-se a chegar ao salão
familiar, logo que deixou a montada no pequeno pátio ao lado da casa. A mãe e os outros irmãos e irmãs estavam na igreja, como a maior parte da população, a rezar ao Todo-Poderoso
para poupar a Córsega às consequências da execução do Rei Luís. José tinha ficado em casa a ler os primeiros relatórios que chegaram a Ajaccio. Napoleão olhou para o jornal,
percorrendo a primeira página com os olhos.
- Meu Deus... eles foram mesmo com isto para a frente - pasmou.
- Nem acredito...
José anuiu. O olhar brilhou ao fitar o irmão.
- Que vai acontecer agora?
- Agora? - Napoleão mordeu o lábio. Com a morte do Rei Luís, os monarcas da Europa estariam aterrorizados com a hipótese de virem a ter o mesmo destino. Aterrorizados e cheios
do espírito de vingança. O que só podia significar uma coisa. - Vai haver um conflito numa escala que ninguém consegue ainda imaginar.
José olhou para ele, cheio de ansiedade, e Napoleão continuou:
- Estarão todos em conluio para declarar guerra à França, agora. Aqueles doidos em Paris não imaginam o que desencadearam.
- Deus nos ajude!
Napoleão sorriu com amargura.
- Desse lado não virá ajuda. Não, depois de tudo o que Robespierre e os seus amigos fizeram. Estamos entregues a nós próprios, e o mundo está contra nós.
Capítulo 67
A água gelada parecia um milhar de facas a espetar-se na pele, e Napoleão susteve a respiração quando ela lhe rodeou o peito. Segurou nas pistolas acima da cabeça e começou
a caminhar em direcção à costa. A volta dele, os homens dos outros barcos também lutavam para chegar à praia coberta de seixos, passando a vau com os mosquetes erguidos no
ar e murmurando pragas por causa da temperatura gelada da água. Adiante, na base do penhasco, brilhava a lanterna que tinha guiado as barcaças para o ponto de desembarque.
Uma silhueta negra permanecia de pé, à luz baça da lanterna, gesticulando para que avançassem. Napoleão sentiu que o ângulo do leito do mar subia e, momentos mais tarde, acompanhou
as ondas baixas que rebentavam na costa e atingiu o cascalho da praia, onde ficou a tremer como
um cordeirinho acabado de nascer. Ao redor, os outros homens batiam com as botas no chão e resmungavam por entre o bater de dentes. O som era terrível, e Napoleão tinha a
certeza de que as sentinelas nas muralhas do pequeno forte, a uma curta marcha de distância da praia, iriam ouvir o barulho. Agarrou no braço do sargento mais próximo.
- Diga aos homens para se manterem silenciosos e depois faça-os formar!
- Sim, senhor.
O sargento caminhou pelo meio da massa negra de soldados, sussurrando ordens à medida que avançava. Napoleão calcorreou os seixos da praia íngreme até à lanterna. Gritou o
mais alto que se atrevia.
- Tenente Alessi!
- Aqui, senhor!
Calcando as conchas e o cascalho solto, a figura com a lanterna avançou. Alessi tinha chegado no dia anterior, a bordo de um barco de pesca corso. Tinha usado o tempo para
fazer uma batida nas linhas de aproximação ao forte e preparar o sinal para o desembarque quando anoitecesse. Era um camarada jacobino e fez continência ao aproximar-se de
Napoleão.
- A rota para o forte está marcada?
- Sim, senhor.
- Algum problema?
- Não. O inimigo está recolhido no quartel a passar a noite, senhor.
- Napoleão conseguia distinguir um ligeiro brilho na expressão do tenente, e Alessi acrescentou com ar de gozo. - Colocaram quatro sentinelas que eu conseguia ver. Parecem
passar a maior parte do tempo nos torreões da muralha. Não os posso criticar, numa noite como esta.
Napoleão anuiu. Por isso tinham escolhido uma noite de lua-nova. A sua única preocupação nesse momento era que os sardenhos pudessem ver o navio que tinha transportado o batalhão
desde Ajaccio. Napoleão virou-se e percorreu o mar com os olhos. Apenas uma ligeira mancha de escuridão mais densa indicava a fragata La Gloire, ancorada a pouca distância
da praia, onde as outras quatro companhias do batalhão esperavam para serem transportadas para terra. As barcaças da fragata já estavam de regresso para as irem buscar, quando
as duas primeiras companhias começaram a formar na praia, pouco acima da linha da água. Para além dos homens do batalhão, um canhão de três quilos seria desembarcado desmontado,
com as munições e pólvora necessárias para o assalto ao forte. Se o assalto tivesse êxito, então, um par de canhões longos de dezoito libras seria trazido para terra e montado
no forte. Uma vez feito isso, as armas poderiam controlar as águas do Estreito à volta da ilha e iniciar o bombardeamento do pequeno forte na costa de Caprera.
O coronel Colonna permaneceu a bordo da fragata para supervisionar a operação, com o coronel Quenza agindo como ajudante-de-campo. Napoleão sentiu um alívio profundo por ter
desembarcado com a primeira vaga de tropas e, assim, ter escapado à influência opressiva dos seus superiores. O seu alívio misturava-se com o contentamento com a perspectiva
do ataque em si. Inclinou-se um pouco, para dar uma palmada no ombro de Alessi.
- Fez um óptimo trabalho. Arranje alguém para tomar conta da lanterna e depois pode regressar à sua companhia. Quero-os em posição o mais cedo possível, fora do campo de visão
do forte, mas prontos para escalarem, no momento em que o ataque começar.
- Sim, senhor.
Alessi fez continência e lá foi calcando os seixos pela praia abaixo até junto da companhia de granadeiros, a primeira que desembarcara. Napoleão manteve-se de pé, com os
braços cruzados por cima do peito magro, a tremer de frio, enquanto aguardava que os barcos regressassem com a próxima vaga de tropas. O canhão de três quilos viria com eles,
e Napoleão queria comandar o esquadrão que colocaria a arma em posição para bombardear o forte. Pouco tempo depois de a segunda companhia ter seguido os granadeiros pela praia
fora, as silhuetas negras das barcaças elevaram-se na rebentação, e mais homens se deixaram cair na água. Napoleão desceu até à linha da água e procurou a barcaça que transportava
o canhão e os seus acessórios.
- Senhor! Estamos aqui!
Uma figura na rebentação acenava-lhe, e Napoleão reconheceu a voz do oficial suíço que estava encarregue de acompanhar o canhão emprestado pela guarnição da cidadela de Ajaccio.
Por instantes, Napoleão interrogou-se se seria este o homem responsável pelo bombardeamento do clube jacobino. Esperava que sim, porque tinha sido uma bela exibição de artilharia.
Sorriu para os seus botões, enquanto se divertia a pensar em como a mudança de sorte faz estranhos companheiros de leito; depois, passou a vau até à barcaça a que o tenente
Steiner permanecia agarrado.
- Vamos a despachar. Pólvora e munições primeiro.
Os homens destacados como equipagem da arma carregaram as munições para terra e depois regressaram à barcaça para virem buscar o carro do canhão, as rodas metálicas e, por
último, o próprio canhão, uma massa inchada de metal pesado que tinha sido embrulhado numa rede de carregamento naval. Com dez homens a segurar nas pegas das cordas, foi carregado
através das ondas e despejado no cascalho com um urro colectivo de alívio. Os homens montaram o canhão com grande destreza, terminando quando o último soldado a desembarcar
corria
para se juntar ao resto do batalhão. Depois, com a equipagem do canhão a pegar nos tirantes, Napoleão deu ordem para começarem a puxar o canhão pela praia acima e depois pelo
estreito caminho que contornava o cabo em direcção ao forte. Os homens que transportavam os pequenos barris de pólvora e redes cheias de balas de ferro seguiam-nos. Depressa
ficaram exaustos, e Napoleão foi obrigado a descansar os homens com regularidade. Com o aproximar da alvorada, lamentou aquelas demoras necessárias e, quando avançaram novamente,
tomou o lugar de um dos homens nos tirantes. O esforço depressa lhe aqueceu o corpo, e as tremuras pararam, ao ter de lutar para continuar a respirar, entre dentes cerrados,
à medida que as rodas do canhão iam calcando ou projectando as pedras soltas do caminho.
Ao aproximarem-se da ponta do cabo, Napoleão entregou o comando a Steiner e correu à frente. O primeiro tom de cinzento esbatido alumiava o horizonte a leste, e ele tinha
de estar seguro de que tudo estava pronto para o ataque. O caminho aplanava adiante, e, para lá de uma sebe de pinheiros, conseguiu ver a silhueta do forte. A companhia de
granadeiros tinha-se infiltrado até lá e permanecia imóvel e oculta à sombra das muralhas, de cada lado do portão. O resto dos homens tinha-se deslocado até duzentos passos
das muralhas e esperava no meio das rochas e da vegetação rasteira. Não havia qualquer sinal de alarme no forte. Napoleão anuiu com satisfação e voltou para trás pelo mesmo
caminho.
O céu já estava cor-de-rosa pálido quando o canhão foi colocado no meio das árvores, a trezentos passos do portão de entrada. O forte parecia velho e abandonado, e Napoleão
esperava que a madeira do portão estivesse em tão más condições quanto o resto das defesas. A arma foi colocada numa zona de terreno plano, e as pedras foram retiradas da
zona de recuo. A pólvora e as balas foram empilhadas num dos lados, e a equipagem carregou a arma e afastou-se, enquanto Napoleão verificava cuidadosamente o alvo, ajustava
a elevação e assoprava no bota-fogo até este ficar em brasa. Colocou-se atrás do carro do canhão e esticou o braço de modo a que o bota-fogo ficasse suspenso mesmo por cima
do tubo de disparo que se projectava da abertura. Napoleão fez uma pausa, saboreando o deslumbramento da excitação, ao compreender que só tinha de baixar o bota-fogo para
pôr seiscentos homens em acção. Respirou fundo e deixou cair o braço.
A detonação da carga de pólvora deu-se um instante depois do primeiro silvo do tubo de disparo. Uma língua de fogo laranja brilhante rugiu no fundo do cano e fez o carro dar
um coice. A visão do forte ficou tapada pelo fumo, e Napoleão deu um pulo para o lado para ver a queda da bala. Um pedaço de parede explodiu por cima e para a direita do portão.
O tenente Steiner deu ordem, numa voz calma, para o canhão ser recarregado, e Napoleão transmitiu-lhe as suas instruções.
- Para baixo e para a esquerda. Depois, fogo à vontade.
- Sim, senhor.
Deixando Steiner a tratar do assunto, Napoleão, sem demoras, foi ter com o resto do batalhão. Ao som do primeiro disparo, eles tinham-se levantado e movido de cada lado do
caminho, para se manterem afastados da trajectória do canhão. Houve outra explosão por trás de Napoleão e um gemido estridente, quando a bala passou por cima dele. Olhou,
a tempo de ver o disparo atingir o topo de portão, destruindo a madeira e deixando um rasgão torto do tamanho de um pote de cozinha.
Napoleão aproximou-se de Alessi e dos seus granadeiros. Ambos desembainharam as espadas e contemplaram o forte. Duas das sentinelas espreitavam por cima da muralha, e o som
de uma corneta cortou o ar frio da manhã. Alessi apontou para as sentinelas:
- Primeira secção! Abrir fogo!
Uma rápida rajada de mosquete fez saltar fragmentos de pedra das muralhas, e a cabeça de uma das sentinelas dissolveu-se, de repente, num borrão de sangue e de miolos. Os
granadeiros festejaram. Depois, outra bala de canhão voou com rugido e atingiu o centro do portão, estilhaçando a madeira e destruindo a tranca interior. Com o som de uma
mó a esmagar, o portão abriu-se para dentro.
- Em frente! - Napoleão apontou a espada aos portões. - Em frente!
Os granadeiros subiram o caminho que levava à ponte estreita sobre a vala de defesa. Napoleão carregou com eles. Atrás dele, as restantes companhias deram um grande e profundo
grito de contentamento e começaram a correr em direcção ao portão. Um movimento acima dele chamou-lhe a atenção, e viu a outra sentinela a colocar o mosquete sobre a muralha
e a apontar o cano para ele, ocultando-se até que a ponta da arma ficasse reduzida a quase nada. Depois, houve um relampejo com fumo, e algo arrancou o chapéu da cabeça de
Napoleão. Ele nem teve tempo de registar que a bala do mosquete tinha falhado o seu crânio por milímetros apenas, porque logo se encontrou a passar os portões e a entrar no
forte por detrás deles. Para além da portaria, havia um largo pátio no centro, com armazéns e casernas construídas nas muralhas que o rodeavam. Um soldado, só de calções,
tocava a corneta, enquanto mais homens saíam das portas dos alojamentos, meio vestidos, pegando à pressa nos mosquetes e nas bolsas de munições.
- Ali! - Alessi apontou para eles. - Carregar!
Sem esperar pelos homens, Alessi apontou a espada e correu pelo pátio. Alguns dos granadeiros correram atrás dele, enquanto outros, com
cabeça mais fria, pararam, fizeram pontaria e dispararam. Três tiros atingiram os alvos em sucessão rápida, e os soldados sardenhos caíram para a frente ou foram projectados
para trás pelo impacto. Depois, Alessi e os seus homens enfrentaram-nos, gritando e rosnando como animais, enquanto lhes espetavam as baionetas ou lhes batiam com as pesadas
coronhas dos mosquetes. Napoleão ignorou-os e olhou em volta, tentando descobrir o comandante da guarnição.
Uma porta abriu-se perto da portaria, e um homem saiu lá de dentro empunhando uma espada de punho dourado. Olhou para tudo espantado, por instantes, até que os olhos se pousaram
nas madeiras do portão destruído e em Napoleão. A sua expressão endureceu e carregou contra ele, com a espada apontada ao coração do oficial francês. Napoleão só teve tempo
de colocar a sua espada na horizontal para aparar o golpe. Metal raspou em metal, e depois o homem empurrou Napoleão e ambos caíram ao chão. O ar explodiu para fora dos seus
pulmões e ele esforçou-se por respirar, abrindo a boca e enroscando-se, enquanto o inimigo rolou e se pôs de pé, erguendo a espada e fitando Napoleão no chão com ar de triunfo.
A seguir, ouviu-se o bater de botas com protectores metálicos, e a vaga seguinte de voluntários precipitou-se pelo portão dentro. O oficial sardenho só teve tempo de ver duas
baionetas a penetrarem-lhe o estômago e dois homens a arrastarem-no para o interior do forte, onde caiu no chão com um grunhido. Um dos voluntários retirou a baioneta com
a ponta vermelha de sangue, deu a volta ao mosquete e esmagou a testa do oficial inimigo com a coronha, silenciando-o de imediato.
- Está bem, coronel?
Um dos voluntários ajoelhou-se e ajudou Napoleão a levantar-se.
Ele tentou responder, mas ainda tinha falta de ar e acenou com a cabeça em substituição.
- Vão... em frente - conseguiu arfar.
O voluntário anuiu e prosseguiu a carga, desaparecendo numa das portas abertas por debaixo das muralhas do forte. Napoleão dobrou-se para a frente, descansou as mãos nos joelhos
e tentou recuperar o fôlego, enquanto mais dos seus homens carregavam, inundando o forte com os seus uniformes azuis. Mas a luta já terminara. Os sardenhos que tinham respondido
à chamada às armas estavam todos mortos ou feridos, e o resto tinha-se rendido ou tinha sido abatido nos alojamentos. Levou pouco tempo até que os homens do batalhão de Ajaccio
se apercebessem de que tinham ganhado e de que o forte era deles. O fogo que lhes correra nas veias extinguiu-se, e as expressões ferozes lentamente se derreteram, até se
transformarem em alívio e depois na breve euforia de ter lutado e vencido. Um grito de ovação saiu-lhes das gargantas, e os homens acenaram
com os chapéus e mosquetes no ar, enquanto o Sol assomava à parede ao fundo.
Napoleão permitiu-lhes a festa por momentos e depois atravessou o pátio até onde estava Alessi e fez sinal aos outros oficiais para se aproximarem. Deu ordens para que os
prisioneiros ficassem detidos nas casernas e os feridos fossem tratados juntamente com os quatro corsos que tinham ficado feridos na batalha; depois, enviou um estafeta à
praia para informar o coronel Colonna de que o forte estava nas mãos deles e que os canhões de dezoito libras podiam começar a ser descarregados.
Duas Companhias foram enviadas para ajudar a arrastar os grandes canhões até ao forte, e outra Companhia começou logo a reparar o portão e a reforçar a muralha leste com madeiras
tiradas do armazém, de modo a que aguentasse o peso dos canhões de oito quilos. Em seguida, Napoleão subiu à muralha que dava para o Estreito e para a ilha de Caprera. No
meio das duas ilhas estava um rochedo, onde uma torre de vigia tinha sido erguida para manter vigilância completa sobre o canal. Napoleão tinha a certeza de que eles teriam
ouvido o canhão usado para rebentar com o portão e que depressa transmitiriam a informação à Sardenha. Isso poderia não ajudar nada.
Quando o Sol se elevou num céu límpido e frio de Inverno, o ar encheu-se com o som de serras e martelos e com os coros dos homens que puxavam as cordas ao trabalharem nas
rampas. Logo a seguir ao meio-dia, uma sentinela na portaria anunciou que o coronel Colonna se aproximava. Napoleão recebeu-o no exterior do forte. Olhou para o caminho por
trás do coronel.
- A que distância estão os canhões, senhor?
- Quatrocentos metros. Talvez menos. Tenho a certeza de que chegarão prontamente. E agora, se tivesse a gentileza de me mostrar o forte?
- Com certeza, senhor.
Napoleão acompanhou Colonna na visita, e este desfez-se em elogios ao batalhão e depois insistiu que queria ver os prisioneiros. Os homens foram trazidos em grupo para a luz
do dia e olhavam para o recém-chegado com apreensão, ao verem Colonna a troçar deles.
- É isto o melhor que a Sardenha consegue providenciar contra nós?
- perguntou em voz alta. - Já vi pastores de cabras com ar mais perigoso nos montes em redor de Bastia! - Fez uma pausa, antes de dirigir a observação seguinte ao grupo de
voluntários mais próximo. - Não admira que lhe tivéssemos dado um enxerto tão grande, eh, homens?
Os voluntários deram-lhe uma ovação bem-disposta, e Alessi deu um toque a Napoleão e murmurou:
- Nós? Não posso dizer que tenha visto o Colonna durante o assalto.
- Sshhh!
Colonna deixou os prisioneiros e continuou a percorrer o forte e a felicitar os homens, e, depois de ter acabado, enviou um soldado à procura de comida e bebida para o almoço,
que comeu numa pequena mesa na muralha leste, enquanto olhava para o canal na direcção de Caprera. Napoleão voltou-se para Alessi.
- Veja o que ficou de comida para o batalhão. Se é que ele deixou alguma coisa.
Quando o coronel Colonna terminava o almoço, o primeiro dos canhões de oito quilos foi arrastado para dentro do forte e puxado pela rampa acima até à plataforma de emergência,
que tinha sido entretanto reforçada com madeiras trazidas de um dos armazéns. Quando o carro naval do canhão ficou em posição, os homens usaram mais traves para fazer uma
alavanca, e, depois, quarenta homens pegaram nas cordas com toda a força e levantaram o cano do chão. Quando estava com altura suficiente, o carro foi rolado e colocado por
baixo, e depois o cano foi baixado até que os munhões ficassem em posição de encaixe e totalmente cobertos. Depois, os homens largaram as cordas e desceram da plataforma ofegantes
e a suar, devido ao esforço. Quando a segunda arma chegou, todo o processo teve de ser repetido, mas, a meio da tarde, Napoleão estava de pé nas muralhas, com as mãos nas
ancas, a admirar a façanha.
- Muito bem! Está na hora de anunciarmos as nossas intenções!
- Napoleão fez um sorriso de gozo, deu ordens para carregar os canhões e correu pelo parapeito fora. Mais uma vez, não confiou em ninguém para acertar as armas e fez pontaria
à torre de vigia do canal. Depois, puxou-se atrás e entregou o comando dos canhões aos capitães artilheiros da marinha, que tinham desembarcado com as peças. Afastando-se
dos canhões, Napoleão ergueu o braço, fez uma pausa e depois baixou-o com rapidez.
- Arma número um! Abrir fogo!
O estrondo do canhão de oito quilos, o jacto de lume e a nuvem encapelada de fumo apanharam todos de surpresa, menos a equipagem da marinha, após o barulho muito mais leve
da detonação do de três quilos que iniciara o ataque. O primeiro tiro caiu no mar, uns cem metros aquém da torre de vigia, com uma pluma de espuma branca a esguichar do ponto
de impacto. O segundo tiro, do outro canhão, pareceu atingir a rocha debaixo da torre. Feitas alterações à elevação, o terceiro tiro bateu no topo da torre, destruindo uma
parte da parede, que caiu ao mar. Agora que o alcance correcto tinha sido adquirido, os canhões continuaram a desfazer a torre de vigia em pedaços.
Foi nesse momento, quando Napoleão gozava completamente os frutos do seu êxito, que um tenente da marinha apareceu a correr no forte.
Logo que viu Colonna, correu para ele para apresentar a sua mensagem, ofegante, sem conseguir respirar bem.
- Que foi homem? Fale!
- Senhor! Peço permissão para apresentar mensagem... houve problemas ...no La Gloire, senhor.
- Problemas? Que problemas?
O tenente baixou a voz, até ser apenas um sussurro.
- Um motim, senhor.
- Meu Deus! - respondeu Colonna em voz alta. - Motim? Tenho de regressar já ao navio! Diga ao seu comandante que sigo já. Vá, homem! Corra!
O infeliz oficial naval virou-se e começou a correr, visivelmente cansado, e atravessou o pátio em direcção ao portão. O coronel Colonna foi ao encontro de Napoleão.
- Pode prosseguir com a destruição da torre de vigia. Entretanto, quero que duas das nossas companhias regressem comigo. Se estes marinheiros precisam de uma lição, então,
por Deus, nós, corsos, vamos ensiná-los!
- Sim, senhor.- Napoleão destacou dois comandantes das companhias para reunirem os homens, e pouco depois a coluna marchava para fora do forte, com o coronel Colonna à testa.
Ao vê-los desaparecer dobrando o cabo, Alessi virou-se para Napoleão e disse em voz baixa:
- Não estou a gostar disto.
- De que está a falar?
- Parece tudo muito oportuno, senhor. Logo quando atingimos tudo o que nos tínhamos proposto fazer, eis que chegam notícias de um motim, e o coronel desaparece com um terço
dos nossos homens.
Napoleão olhou para o subordinado e riu-se.
- Está a ver conspirações e tramas onde elas não existem.
- Espero que sim, senhor.
Menos de uma hora depois, um segundo mensageiro chegou.
- O Coronel Colonna envia saudações, senhor.
- Então?
- O batalhão deve retirar para a praia, senhor, imediatamente.
- O quê? - Napoleão abriu os olhos de espanto.
- O coronel está a abandonar a operação, senhor. Disse-me para lhe transmitir que a situação a bordo do La Gloire está fora de controlo e que todos os homens são precisos
a bordo.
Napoleão fitou o mensageiro, com a fúria a apoderar-se rapidamente da sua pessoa. Era inacreditável! Que jogo estava Colonna a jogar? Como
podiam abandonar o forte? Napoleão apontou para os canhões de oito quilos.
- E aquilo? Como quer ele que eu regresse com aquilo à praia "imediatamente"?
- As ordens são de que abandone as armas, senhor.
Napoleão abriu a boca para protestar, mas logo a fechou. Não, isto era um absurdo.
- Que está a acontecer exactamente na fragata?
- Não sei, senhor. O coronel foi para a fragata, mal chegámos à praia. Mesmo antes de entrarmos nas barcaças, um daqueles barquitos veio da fragata. O oficial lá dentro, que
é do gabinete do coronel, gritou a ordem, e o meu oficial enviou-me para o vir buscar, senhor.
- Então, a tua companhia nem sequer chegou ainda à fragata?
- Não, senhor.
- Então, como pode estar a situação fora de controlo?
O homem encolheu os ombros, desesperado.
- Não sei, senhor.
Era visível que o homem não sabia mais do que o que dizia saber, e Napoleão mandou-o embora. Num ataque de fúria cega, antes que se pudesse controlar, tinha cerrado os punhos
e dava murros nas coxas.
- MERDA!... Merda! Merda!
O tenente Alessi aproximou-se preocupado.
- Senhor?
- Que quer? Que quer você?
- Ordens, senhor- acrescentou Alessi com gentileza. - Quais são as suas ordens?
- Aguarde um momento. - Napoleão fez um esforço para se descontrair e concentrar. Tinha de obedecer ao coronel Colonna. O tempo para questionar as suas decisões viria mais
tarde. E era melhor que houvesse uma razão muito forte para aquela loucura. Conseguiu que o amargo ataque de fúria que, por breves momentos, o tinha consumido, abandonasse
a sua mente. - Alessi, ficarei aqui com a equipagem dos canhões e meia companhia. Leve o resto de volta para as barcaças.
- Que vai fazer, senhor?
- Não podemos deixar estes canhões caírem nas mãos do inimigo. Tenho de os destruir, assim como todas as outras armas que aqui existam, antes de irmos. Agora, pegue no resto
dos homens e vá.
- Sim, senhor.
- Alessi, uma última coisa. Veja se o bom do coronel não se vai embora sem nós...
Napoleão seleccionou os homens rapidamente: fortes, corpulentos,
prontos para trabalhos pesados de quebrar as costas. Quando o tinir dos protectores das botas dos soldados que tinham abandonado o forte já estava longe o suficiente, Napoleão
dirigiu-se aos outros homens.
- Temos de destruir os canhões. Tem se ser atirados ao mar.
Os homens deitaram-se ao trabalho, fazendo buracos no parapeito, fazendo uso das baionetas para arrancar a argamassa antiga, seguidos de outros que partiam as pedras, usando
martelos da oficina do forte. Mal as aberturas ficaram largas o suficiente, o primeiro carro foi lenta e dolorosamente empurrado para a frente e atirado por cima da muralha.
Napoleão viu-o cair com uma certa elegância, até que o cano bateu contra a ponta de uma rocha, que foi pulverizada pelo impacto. Depois o canhão caiu no mar e desapareceu
de vista. Logo que o segundo se lhe juntou, Napoleão verificou se todas as armas de fogo tinham sido destruídas, até à última pistola, e depois ordenou aos homens que libertassem
os prisioneiros. Foi o último a abandonar o forte e teve de correr para alcançar os outros.
A luz do dia desvanecia-se quando chegaram à praia. As barcaças da fragata subiam e desciam com a rebentação. E o tenente Alessi e os seus homens tinham as armas apontadas
à tripulação dos barcos. Quando Napoleão apareceu a correr pelo cascalho abaixo, para se juntar aos homens que embarcavam à pressa, Alessi recebeu-o com um sorriso.
- Receio ter sido forçado a persuadir estes senhores a esperarem por si e pelos outros.
- Deveras?
- Parece que o La Gloire ia partir no momento em que o último dos meus granadeiros embarcasse. - A expressão de Alessi era agora muito séria. - Só Deus sabe o que se passa,
senhor. É melhor estarmos muito atentos.
O Sol punha-se no horizonte, e uma fria brisa nocturna assobiava nos aprestos da fragata, quando Napoleão subiu a bordo e pôs os pés no convés. Tudo estava tão calmo e ordenado
quanto estivera quando ele abandonara o navio antes da madrugada. Não havia sinais de motim algum, absolutamente nada; e o coronel Colonna não estava visível em parte nenhuma.
Capítulo 68
- Estou a dizer-te, José! Todo o fiasco estava programado para falhar desde o primeiro minuto. - Napoleão bateu com o dedo na mesa para enfatizar o ponto.
Estavam sentados no salão da casa de família, em Ajaccio. Era tarde, e o resto da família tinha ido para a cama. Após o regresso da expedição falhada, em Março, ele tinha-lhes
contado alguma coisa do que tinha acon-
tecido depois de ele ter zarpado para a batalha com os voluntários. O resto reservou para o irmão mais velho, e agora que José, por fim, regressara a casa, Napoleão desabafava
com ele. José nunca antes o vira tão cheio de raiva e amargura.
- Paoli queria que eu falhasse. Não, ele queria que eu ficasse lá abandonado. Para morrer, ou para ser feito prisioneiro.
José olhou para o irmão, sentindo algum desconforto.
- Assumindo, por instantes, que as tuas suspeitas...
- Suspeitas? - Napoleão explodiu. - Tu ouviste uma única palavra do que eu disse? Eu não tenho suspeitas nenhumas acerca de Paoli. Sei precisamente que tipo de criatura ele
é. Ontem, um dos meus amigos do clube jacobino disse-me que corria o boato de que os paolistas estão a planear assassinar-me.
- Isso é loucura. - José respirou fundo e tentou de novo, num tom mais calmo. - Que razão poderia ter Paoli para querer que falhasses na tua missão e, talvez, também, para
que fosses morto ou capturado durante ela?
Napoleão estendeu o braço por cima da mesa e deu uma palmada na testa do irmão.
- Pensa! Ele não queria que a operação fosse avante. Paoli quer ficar bem relacionado com Piemonte e quer sabotar a política francesa. Quando chegar o tempo de separar a Córsega
da França, e juntar-se à Grã-Bretanha, ele pode apontar para os seus pergaminhos de resistência aos franceses. Mas não podia ser muito óbvio a esse respeito, por enquanto.
Portanto, levou a cabo a ordem de preparar a invasão da Sardenha. Ele é visto a cooperar e até a enviar um batalhão de voluntários corsos para efectuar a operação. Para que,
quando tudo falhe, me possa atribuir as culpas, a mim, um bem conhecido jacobino, e, com isso, desacreditar o partido jacobino pelo meio. Claro que tem de ter a certeza de
que eu não estou presente para o contradizer. O facto é que tivemos sucesso, e aquele sabujo do Colonna ordenou-nos que abandonássemos o forte e as armas... as armas... -
Napoleão murmurou e recostou-se na cadeira, com uma expressão de choque. - Claro! Agora é que percebi tudo.
- Percebeste o quê?
- Colona disse-me para abandonar as armas e regressar à fragata. Ele deu-me essa ordem.
- E então? - José abanou a cabeça. - Não percebo.
- Eu sou um oficial de artilharia. É um ponto de honra nunca abandonarmos as nossas armas ao inimigo. Paoli sabia disso. Portanto, o Colonna inventa a história do motim e
ordena-me que abandone as armas, sabendo muito bem que eu não obedeceria a essa ordem. Ele contava que eu ficasse a destruir as armas, enquanto o resto do batalhão embarcaria
e
zarparia para casa. Ele só não pensou que o tenente Alessi apontasse uma arma ao comandante da tripulação das barcaças, e que, assim, os forçasse a esperar por nós. - Napoleão
aninhou-se nas costas da cadeira. - Temos de admirar Paoli; ele pensou em tudo, com todos os pormenores. A única coisa com que ele não contou foi com Alessi.
José, embora relutante, teve de concluir que a versão dos acontecimentos fazia sentido.
- Muito bem. Então, Paoli é nosso inimigo e está a trair a França; e que sugeres tu que façamos? Informar a convenção?
- É capaz de ser demasiado tarde para isso. Quando a nossa mensagem chegar a Saliceti e ele convencer a convenção a actuar, Paoli já poderá ter mudado de lado. É o que fará,
no momento em que suspeite que Paris sabe da sua traição. - Napoleão fitou o irmão mais velho. - Temos de tentar pará-lo, aqui e agora.
- De que estás tu a falar? - perguntou José, muito nervoso. - Que podemos nós fazer?
- Amanhã à noite vou falar no clube jacobino. Vou contar-lhes tudo. Tudo o que te disse a ti. - Os olhos de Napoleão abriram-se, enquanto analisava as opções que tinha. -
Depois proporei uma moção que declare Paoli inimigo de Estado e que ordene a sua prisão imediata.
- Não! - José abanava a cabeça. - Estás a ir longe de mais. Nem os jacobinos se atreverão a opor-se a Paoli. A maior parte nem sequer nisso pensará. Ele é o herói deles, por
amor de Deus! Se lhes disseres que ele é um traidor, arranjas maneira de que te matem a ti. E ao resto de nós também. Não podes pôr a tua família em perigo dessa maneira.
- Eu tenho de fazer isto - insistiu Napoleão. - Paoli é nosso inimigo. É inimigo do nosso povo; só que o povo ainda não o sabe. Tenho de lhe abrir os olhos. Por isso, tenho
de falar amanhã à noite.
- Não podes! Vais fazer com que nos matem a todos!
Napoleão devolveu o olhar duro ao irmão e depois cedeu, ao aceitar que ia correr um risco e que não tinha o direito de pôr em perigo os irmãos, as irmãs e a mãe. Suspirou
desanimado e depois disse na voz mais suave que conseguiu arranjar.
- Tens de levar a família para um local seguro.
- Se as coisas correrem mal no clube jacobino, não haverá nenhum local seguro na Córsega.
- Então, deves estar preparado para deixar a Córsega. Deves partir logo de manhã. Leva a família e o que resta do ouro que o tio Luciano nos deixou no testamento e compra
passagens num navio para Calvi. Quando lá chegares, espera por mim. Enviarei mensagem, se for seguro regressar. Caso contrário, farei todos os possíveis para ir ter com vocês,
ou para vos
fazer chegar a mensagem de que falhei. Se isso acontecer, deves tomar o primeiro navio para França. Lá, deves contar tudo a Saliceti. É ele quem me deve um favor agora.
- Napoleão, estás a arriscar demasiado.
- Tenho de fazer isto - respondeu com firmeza. - Fá-lo-ei pela França. Fá-lo-ei pelo povo da Córsega, antes que Paoli o venda aos ingleses. Mas, sobretudo, fá-lo-ei porque
o velho estuporado me traiu e prefiro morrer do que deixá-lo atirar para a ignomínia o nome Buona Parte.
Na noite seguinte, logo que entrou no clube jacobino, Napoleão ficou ciente da atmosfera de tensão existente. Os outros membros olharam-no, quando passava pelo meio da sala
de leitura, e houve um breve cessar na conversação, e depois lá se voltaram uns para os outros de novo e prosseguiram com a conversa em tons muito mais baixos, que só gradualmente
recuperaram a intensidade anterior. A culpa pelo fiasco na ilha de Maddalena tinha sido atribuída a Napoleão, desde o início: os boateiros de Ajaccio tinham sido bem providos
antes do regresso inglório do batalhão de voluntários.
Napoleão dirigiu-se ao secretário do clube e acrescentou o nome à lista dos membros que desejavam falar na reunião daquela noite. Depois, foi até à mesa onde estavam espalhados
os mais recentes jornais de Paris. Pegou numa cópia do Moniteur, sentou-se no canto da sala, de costas para a parede, e começou a ler, enquanto esperava que a reunião começasse.
A guerra não estava a correr bem. O general Dumouriez tinha sido derrotado pelos austríacos em Neerwinden, as forças inimigas que se opunham à França tinham sido engrossadas
pela declaração de guerra da Inglaterra, da Espanha e do Reino das Duas Sicílias, e a convenção tinha sido forçada a anunciar recrutamentos em massa, até perfazer trezentos
mil homens, para enfrentar a ameaça. E esta não era puramente externa. A insurreição em Vendée ameaçava transformar-se numa contra-revolução em toda a escala. Napoleão sorriu
amargamente. Se Paoli estava a pensar mudar de aliado, agora era a altura perfeita para o fazer.
- Boa-noite.
Napoleão levantou os olhos do jornal e viu Alessi de pé, inclinado para ele. Alessi indicou a cadeira vazia ao lado de Napoleão.
- Posso?
Napoleão assentiu, dobrou o jornal e pô-lo de lado.
- Está aqui para a reunião?
- Sim. - Alessi sorriu. - Há semanas que não ouço um debate decente. E depois vi o seu nome na lista, mesmo agora.
- Vou apresentar uma proposta ao clube. - Napoleão baixou a voz.
- Diz respeito ao meu amigo Paoli e àquele fiasco em Maddalena.
Alessi ergueu as sobrancelhas com a surpresa.
- Acha que isso é sensato?
- É altura de alguém o expor pelo que ele é.
Ambos os homens olharam para cima, quando o secretário do clube fez soar a sineta a anunciar o início da reunião. Napoleão e Alessi levantaram-se das cadeiras e juntaram-se
às pessoas que entravam pela porta da sala de reuniões, um salão grande, cheio de bancadas. Ao fundo estava a estante de leitura dos oradores, numa plataforma elevada. Napoleão
e Alessi foram empurrando os outros e sentaram-se na primeira fila. Quando os restantes membros iam entrando e se iam sentando, o secretário colocou uma mesa pequena num dos
lados da estante e preparou a sua agenda da noite. Enquanto os últimos lugares eram ocupados, e mais membros ficavam de pé ao fundo do salão, Napoleão foi ter com o secretário
e pediu-lhe para falar primeiro, dado que a proposta era muito urgente, e o homem prontamente alterou a ordem das intervenções.
Napoleão regressou ao lugar. No seu interior, o estômago estava leve e o coração acelerado. Interrogava-se se deveria mesmo prosseguir com o plano.
O secretário levantou-se e deu várias pancadas com o martelo na mesa, para silenciar a assistência. Quando já não havia barulho, declarou a reunião aberta, leu as actas da
reunião anterior e depois fez sinal com a cabeça a Napoleão.
Enchendo o peito de ar, Napoleão contornou a estante e colocou-se atrás dela. A luz proveniente de uma dezena de chamas, a agitar-se nos candelabros suspensos do tecto, conferia
às caras de todos um tom florido de brilho alaranjado, que lhes dava um aspecto quente e zangado. Por um momento, ele nada disse, com a língua presa pelo conhecimento de que
o seu futuro, talvez até a sua vida, dependia do resultado do que dissesse. Depois, pigarreou e começou a falar.
- Como todos vós, eu via em Paoli um patriota e um verdadeiro herói corso. Durante todos os anos que passou no exílio, dissemos a nós próprios que o dia do seu regresso à
nossa terra seria o dia em que seríamos livres de novo. E feliz foi o dia em que o conheci em Marselha, lhe apertei a mão, o olhei nos olhos e pensei que as minhas preces
tinham sido ouvidas. Aqui estava o nosso Paoli, o nosso libertador.
Napoleão olhou para as caras da assistência e viu muitas a assentirem, ao recordarem as suas expectativas quanto ao regresso de Paoli à sua pátria. Felizmente, um certo número
de outras estava inexpressivo como pedra, porque alguns membros se tinham recusado a alinhar na euforia de então. Napoleão ergueu as mãos para silenciar os murmúrios.
- Constato que todos recordamos o momento como se tivesse sido
ontem. Se ao menos assim tivesse sido, para sermos poupados ao que aconteceu desde então... Levou muitos meses, mas o general Paoli partiu-me o coração. Todas as esperanças
que tinha para o nosso futuro foram roubadas e distorcidas com mentiras e enganos. O general Paoli atribuiu aos seus seguidores todos os valores e posições que eram suas prerrogativas
e depois todas as que não eram, através da força, do suborno, da corrupção e da desonestidade. Trata a Córsega como se nós fôssemos os seus súbditos, e ele o nosso rei!
Desta vez, a assistência estava clara e vocalmente dividida na sua resposta, e, enquanto alguns aplaudiam Napoleão, outros, em maior número, gritavam furiosos.
- Tenha vergonha! Tenha vergonha!
Outros atiravam com os punhos ao ar na direcção dele, e ele sentiu a excitação do perigo, enquanto, com calma, pedia silêncio para poder continuar.
- E, agora, parece que Paoli tem a intenção de trair a amizade da França e de trair os princípios da revolução, que nos transformaram em cidadãos livres, não mais destinados
a sofrer a humilhação de serem meros súbditos de um rei mimado e venal. No presente, somos parte da França, e os nossos assuntos são governados pela vontade do povo comum.
Mas, se Paoli nos vender a uma aliança de inimigos da França? O que nos garantirá a nossa liberdade?
- Chega! - gritou um dos membros do clube, erguendo-se de um pulo e apontando um dedo a Napoleão. - Cala a boca, traidor! Como te atreves a insultar o herói da Córsega?
- Ele já não é o nosso herói! - Napoleão respondeu também aos gritos. - Ele é a vítima da sua própria vaidade! Paoli não é mais herói do que o Rei Luís, e eu apelo a todos
os presentes para que exijam a sua prisão e julgamento, da mesma forma como antes pedimos para o Rei Luís!
Mais membros do clube levantaram-se para atacar Napoleão, e ele tentou chamá-los à ordem, mas em vão. A sala das reuniões estava em tumulto, com membros aos gritos de raiva
contra ele e também uns contra os outros. O secretário pegou no braço de Napoleão.
- Acho que já disse que chegasse, Buona Parte.
- Ainda não terminei.
- Terminou, sim - respondeu o secretário, com firmeza. - Regresse ao seu lugar!
- Não!
O secretário cerrou os dentes e empurrou Napoleão para fora da estante, no que foi recompensado com uma estrondosa saudação, mas também com pateadas da audiência. Por instantes,
Napoleão virou-se para o
homem e estava pronto a lutar com ele pela posse do palco, mas depois apercebeu-se da raiva que lhe era dirigida, vinda da assistência, com alguns homens a levantarem-se,
prontos a seguirem para o palco, em auxílio do secretário.
- Isto é uma vergonha! - gritou Napoleão para o secretário, por cima da gritaria generalizada. - Com que autoridade me nega o direito de me dirigir a estes cidadãos? Paoli
já manda em Ajaccio?
- Sente-se! - gritou o secretário. - Já!
Várias mãos agarraram Napoleão, e, antes que pudesse reagir, foi arrastado do estrado para fora e forçado a sentar-se na cadeira. De imediato se ia levantar, mas Alessi agarrou-lhe
no braço.
- Não faça isso! Ainda não. Espere até que as cabeças quentes arrefeçam. Depois, pode tentar reparar os danos.
Napoleão olhou-o espantado, mas, antes que pudesse responder, o orador seguinte, Pozzo di Borgo, tinha tomado a estante e agitava os braços para acalmar a assistência e se
fazer ouvir. Quando o barulho quase se extinguia, o novo orador olhou para Napoleão e disse alto e bom som:
- Quero apresentar uma nova proposta ao clube. Que Napoleão Buona Parte seja destituído da sua patente nos voluntários de Ajaccio!
O salão explodiu numa estrondosa ovação de apoio. Pozzo di Borgo sorriu e continuou.
- Mais ainda, que a sua pertença a este clube seja revogada.
De novo mais aplausos, até que uma voz ao fundo do salão perguntou:
- Com que bases? Não pode fazer tais propostas sem uma causa
justa.
Muitos assobiaram e insultaram, e o secretário bateu com o martelo:
- O cidadão tem razão. Deve haver um debate completo e formal de qualquer proposta que censure um membro deste clube de forma tão severa. O proponente aceita?
Pozzo di Borgo sorriu trocista.
- Porque não? Fico feliz por dar às pessoas a hipótese de falar. Antes de nos vermos livres do cidadão Buona Parte!
Napoleão cerrou a boca com força e fixou o homem com o olhar, desafiando-o a que o desviasse primeiro. Ele já se encontrava para além da raiva. Estava surpreendido por se
sentir tão calmo. Esta luta estava perdida, e ele sabia-o. Não valia a pena prosseguir. O que agora interessava era conseguir sobreviver até poder exercer a sua vingança,
como exigia o código de honra dos corsos. Voltou-se para Alessi.
- Vou-me embora. Estarei em minha casa.
Os gritos e clamores dos membros cessaram, quando Napoleão se
levantou. Olharam para ele expectantes, e ele fez-lhes uma vénia e disse, tão calmo quanto pôde:
- Boa-noite, cavalheiros.
A seguir caminhou a direito entre as filas de cadeiras, passou a porta e atravessou a sala de leitura.
- Cobarde! - alguém lhe gritou, e outros juntaram-se-lhe com apupos e pateadas, até que o bater frenético do martelo do secretário trouxe o silêncio de novo.
Quando se dirigia para a porta da rua, Napoleão ouviu o secretário a dizer à assistência da sala de reuniões:
- Cidadãos! Temos uma proposta apresentada a esta casa. Vamos lidar com ela de uma maneira digna do partido jacobino!
Capítulo 69
Quando chegou a casa, a ausência da família e o silêncio inacostumado daquelas paredes reforçaram-lhe a determinação mais do que nunca. Ele não podia permanecer em Ajaccio.
O boato de que os paolistas queriam assassiná-lo já era mau de mais, mas, no momento em que se soubesse que o clube jacobino se tinha voltado contra ele, Napoleão seria feito
em pedaços, mal mostrasse a cara na rua.
Tinha arranjado um bom cavalo, que estava selado e pronto a partir nessa noite e preso na arrecadação, nas traseiras da casa. Tudo o que lhe faltava era arrumar o essencial
e partir. José tinha-lhe deixado cem luíses de ouro do cofre do tio Luciano, e Napoleão colocou as bolsas de cabedal no alforge, por cima de umas roupas e dos seus livros
de anotações.
Foi então que ouviu a porta da rua a abrir-se com estrondo e passos a ressoarem no hall de entrada.
- Napoleão! Napoleão! Onde é que está?
Reconheceu a voz, com uma onda de alívio.
- Alessi! Espere um momento!
Rapidamente colocou o alforge ao ombro e correu para a porta. Alessi veio ao encontro dele a correr e agarrou-lhe no braço.
- Tem de se ir embora! Saia de Ajaccio esta noite.
- Que aconteceu?
- Aprovaram uma proposta, e depois alguém acrescentou uma cláusula a condenar a família Buona Parte à execração e infâmia perpétua; foi essa a frase escolhida. Sabe o que
isso significa. Eles vão matá-lo a si e à sua família, se lhes conseguirem deitar as mãos.
Ouviram-se gritos na rua, e o som de passos ecoou no exterior dos edifícios. Alessi sobressaltou-se com o barulho.
- Eles já aí estão!
- Venha! Por aqui!
Napoleão agarrou Alessi e empurrou-o para a porta da cave. Fechou-a atrás de si e correu pelos degraus íngremes abaixo. No fundo das escadas, pegou na vela com cuidado e conduziu
Alessi para uma pequena porta de madeira ao fundo da adega. No rés-do-chão, a porta da rua foi aberta à bruta, e vários homens entraram na casa, percorrendo as divisões com
passos a baterem com força nos soalhos de madeira, enquanto gritavam por Napoleão em tons furiosos e duros, que não deixavam dúvidas acerca das respectivas intenções. Quando
Napoleão e Alessi entraram pela porta húmida da adega, avela tremelicou e apagou-se.
- Continue a andar! - sussurrou Napoleão. - Sempre em frente.
Alessi seguiu aos tropeções, e Napoleão agarrou na cauda da casaca
dele para não perder o contacto. Mesmo antes de chegarem à porta, segundo calculava Napoleão, Alessi tropeçou e caiu para a frente, e algo de vidro se quebrou no chão.
- Ouviste aquilo? - Escutaram uma voz abafada a gritar. - Foi
aqui!
A porta da adega foi aberta de rompante, enquanto Napoleão pegava em Alessi, levantava-o do chão e estendia as mãos para além dele, com os dedos a apalpar o ar, até que tocaram
na superfície áspera da porta. Ouviram-se passos a descer as escadas íngremes da cave.
- Isto está escuro como breu. Tragam luz!
Os dedos de Napoleão percorreram a madeira, encontraram a tranca e levantaram-na. O metal estava velho, e houve um rangido de protesto das dobradiças, quando a porta se abriu
para dentro.
- Está alguém aqui em baixo!
Para além da porta, o chão elevava-se escarpado até ao pátio por detrás da casa, e Napoleão trepou com dificuldade, seguindo Alessi, até que chegaram aos bastiões da casa,
à luz pálida das estrelas. Napoleão empurrou o outro homem pelo pátio fora, até onde um arco se abria para a rua.
- Vá para casa. Já arriscou o suficiente.
Alessi assentiu e apertou a mão de Napoleão.
- Boa sorte!
Depois desapareceu, a correr oculto nas escuras sombras da rua. Napoleão foi na direcção contrária, apalpando a parede. Chegou-lhe ao nariz o cheiro do cavalo e ouviu-o a
morder o freio, antes de encontrar a fechadura. Não querendo denunciar-se de novo, puxou-a com muito cuidado e abriu a porta lentamente. O cavalo moveu-se nervoso na escuridão,
quando Napoleão pegou nas rédeas e o puxou para a rua. O seu primeiro pensamento foi montar no animal e galopar como o vento. Mas, se o cavalo perdesse o
equilíbrio no empedrado das ruas, poderia cair e magoar-se, ou, pior ainda, magoá-lo a ele.
Os gritos e passos dentro da casa eram pontuados por grandes estrondos, dado que os homens, que o procuravam a ele, procuravam agora o que roubar. Só que havia mais vozes
na rua, à procura do homem que tinha denunciado Paoli. Puxando pelo cavalo o mais depressa que conseguia, Napoleão embrenhou-se nas ruas emaranhadas da cidade velha, até encontrar
uma via silenciosa que seguia para fora de Ajaccio.
O som dos seus perseguidores lentamente ia ficando para trás. Já perto dos limites da cidade, teve de aguardar nas sombras que um grupo de homens armados com mosquetes e espadas
passasse ao fundo da rua, alguns envergando uniformes do batalhão de voluntários. Apenas há algumas semanas tinham lutado a seu lado no assalto ao forte de Maddalena; agora
eram seus inimigos.
Após terem seguido, e os seus passos se terem desvanecido ao longe, Napoleão prosseguiu em direcção ao limite da cidade. Ali, um caminho dava uma curva e subia pelo meio das
oliveiras, em direcção à estrada principal para norte, ao longo do sopé das montanhas. Napoleão continuou a pé, até estar a uma distância razoável do último edifício, e depois
montou o cavalo. Havia apenas a luz necessária para ver o caminho, e com um estalo da língua, deu sinal ao cavalo para avançar. As árvores que ladeavam o caminho bloqueavam
a vista da cidade, e só quando chegaram ao topo do monte é que Napoleão pôde puxar as rédeas e contemplar Ajaccio. O vulto negro da cidadela dominava a densa massa de casas
da cidade, iluminadas aqui e além por lanternas e luzes visíveis nas janelas. A delicada mistura de mastros e aprestos quase não era discernível no porto, para além do qual
o mar era um reflexo cinzento-escuro que se estendia até ao horizonte. Por cima, as estrelas completavam o cenário, com um bordado de brilho inesgotável.
Napoleão sentiu uma súbita e avassaladora tristeza a esmagá-lo. Esta tinha sido a sua casa. Mesmo com tantos anos passados em França, tivera sempre Ajaccio e a Córsega no
coração. Ele tivera a certeza de que estava destinado a fazer alguma coisa duradoura naquela ilha. Agora tudo isso acabara. A casa, cujas pedras, recantos e vãos lhe eram
tão familiares quanto o próprio corpo. O cais, onde brincara quando era criança e ouvira as histórias exageradas dos pescadores e dos marinheiros. A cidadela, onde fora amigo
dos soldados da guarnição e onde, muito depois, tinha tentado conquistá-la a eles. Todos os locais e pessoas com que tinha crescido, tudo isso estava irremediavelmente perdido
para ele.
- E agora? - perguntou em voz baixa, e as longas orelhas do cavalo reagiram ao som. Napoleão inclinou-se para a frente e deu à montada uma palmada doce e reconfortante no
pescoço.
- Tem calma...
Agora? Agora só lhe restava fugir daquele lugar. Uma longa e cansativa cavalgada até Calvi, para se juntar ao resto da família, e depois embarcariam no primeiro navio para
França. Os Buona Parte seriam refugiados numa terra estranha, dilacerada pela revolução, guerra e insurreição. Fosse o que fosse que o destino lhe reservasse, uma coisa era
certa, reflectiu. Todas as suas ambições para a Córsega pertenciam ao passado. Daqui em diante, quer gostasse, quer não, o seu destino estava irrevogavelmente ligado ao de
França.
Capítulo 70
Dublin, 1791
Numa manhã de Março, quase um ano depois de ter começado a sua campanha para deputado por Trim, Arthur ia passeando pela Connaught Street, de montra em montra, à procura de
um par de botas de montar. Na parte da tarde teria um encontro com o agente de propriedades da família, John Page, e esperava ter depois um almoço calmo na sala de jantar
do Carlton, onde as janelas davam para o Liífey e para os telhados e torres do castelo de Dublin, que se elevavam acima dos edifícios da outra margem. Os seus encontros com
Page nunca eram agradáveis, dado que Arthur pouco se interessava pelas finanças da família. Mais grave ainda era o facto de ele dever ao homem trinta guinéus, desde há dois
anos, e de Page raramente desperdiçar a oportunidade de recordar a dívida a Arthur, com uns modos aperfeiçoados de deferência fina. Agora, para piorar tudo, Arthur precisava
de mais dinheiro para pagar uma conta atrasada na messe e para comprar um par de botas de montar. Tratando-se de pequenos empréstimos, Page era o melhor benemérito que poderia
encontrar, pois nada cobrava de juros, a não ser o olhar de magoada reprovação que exibia, quando discutia a situação financeira de Arthur.
Assim corriam os pensamentos de Arthur, enquanto via a montra de uma das sapatarias de homens. A sua frente estava um belo par de botas de cabedal castanho-escuro, a brilhar
como madeira envernizada. Imaginou-se a chegar no domingo à caçada, com aquelas botas a atraírem olhares de admiração. Mas, valeriam elas doze guinéus? Recuou uns passos na
rua, para ver como lhe pareciam as botas de uma distância menos íntima e, de novo, ponderou a justificação para um luxo tão caro.
- Porque não entra e não as experimenta?
Arthur sobressaltou-se e virou-se para a voz. Parada, a uma curta distância, Kitty Pakenham ria-se com a expressão de surpresa dele.
- Peço desculpa. Não queria pregar-lhe um susto.
Arthur corou e tentou recuperar a compostura, bastante inseguro quanto à reacção que devia adoptar face à descoberta repentina de Kitty a sorrir-lhe no meio de uma rua de
Dublin.
- Ah, aahhmm - conseguiu balbuciar e depois fez uma vénia formal com a cabeça. - Menina Pakenham, é um prazer vê-la de novo.
- Da maneira como fala, até parece que há meses que não vamos às mesmas festas, quando foi apenas na última terça-feira que estivemos à conversa, durante a ceia na soirée
de Lady Tremayne. Sou assim tão esquecível, que já nem se recorda do evento, senhor Wesley?
- Esquecível? Pois não, senhora. Nem pensar nisso. Se eu penso em si o tempo todo, eu... - Arthur franziu a testa. - Perdoe-me... o que queria dizer...
- É que não pensa tempo nenhum em mim? - Kitty espicaçou-o.
- Oh, peço desculpa. Não me parece que a frase esteja gramaticalmente certa. Ou até sintacticamente certa. - Fez um gesto com a mão, assinalando a pouca importância do assunto.
- Seja qual for a terrível frase, não soa a isso. Credo! Nem o que acabei de dizer.
Arthur riu-se, e Kitty juntou-se às gargalhadas, passados instantes. Mal recuperaram da diversão, Arthur sorriu-lhe e disse:
- Vamos recomeçar, menina Pakenham?
- Sim, e comecemos por me tratar por Kitty. De outra forma, assumirei que não gosta mesmo de mim.
- Muito bem. Kitty é e Kitty será.
Arthur saboreou o som, ao sentir a língua a afastar-se do palato e a ponta a empurrar a parte de trás dos dentes. Kitty. Estava ali na rua e era toda dele. Sentiu o coração
a animar-se, quando se apercebeu de que esta era a oportunidade de que tinha estado à espera. A seguir, a ansiedade apertou, ao temer não estar pronto para a ocasião, o que
talvez transformasse a sua oportunidade, certamente a única que teria de causar uma boa impressão, numa grande trapalhada. Já se tinha descaído com a confissão de que ela
estava sempre no seu pensamento e recriminava-se por ter exposto os seus verdadeiros sentimentos de forma tão descuidada. Tinha de se precaver contra isso no futuro. Fitando
os olhos claros de Kitty, prosseguiu.
- E a menina tem de me tratar por Arthur. Isto é, gostaria que me tratasse por Arthur, se não for uma imposição?
- Será um prazer tratarmo-nos pelos primeiros nomes, depois de todo este tempo. Recorda-se do piquenique onde nos conhecemos?
- Com certeza.
- Foi quase há dois anos. Nessa ocasião, achei que era um jovem soldado terrivelmente espirituoso.
- Nessa ocasião?
- Claro! Agora está mais maduro. - Ela analisou-o, de alto a baixo, com um olhar rápido. - Está um cavalheiro e um membro do parlamento também. Bem, está quase respeitável,
Arthur. A única coisa que lhe falta é aquele belo par de botas que estava a admirar na montra. E se entrássemos e as apreciássemos como deve ser?
- Menina Kitty... eu não presumiria...
Mas ela já tinha passado por ele e estava parada à porta da sapataria, à espera que ele lha abrisse. Arthur apressou-se, abriu a porta e ficou parado a segurá-la, enquanto
o roçar das saias dela entrou de rompante no estabelecimento comercial. Um dos empregados saiu de imediato detrás do balcão e fez uma vénia aos dois clientes.
- Bem-vindo, senhor. Em que posso ajudar o senhor ou a sua estimada esposa?
Arthur corou e olhou de soslaio para Kitty, que tinha posto uma das mãos enluvadas à frente da boca, para disfarçar o riso. Tossiu, fez cara séria e apontou para a montra.
- O meu marido está interessado naquelas botas de montar que tem na montra. Pode ir buscá-las, por favor?
- Com certeza, senhora.
O homem fez uma vénia e foi direito à montra. Arthur virou-se para
ela.
- Kitty, o que pensa que está a fazer?
- Shhh! Arthur - sussurrou -, estou a divertir-me. Nunca fui casada antes. Vamos ver que tal é.
Ele olhou para o empregado da loja, debruçado sobre o gradeamento, a apanhar as botas.
- Não me parece que isto seja muito apropriado.
- Pouco barulho! Ele vem aí. Faça o seu papel, e tudo correrá bem.
- O quê?
Arthur sentiu as maçãs do rosto a tremerem de embaraço.
- Aqui estão, senhora! - O empregado sorriu, ao chegar junto deles, exibindo as botas no ar. Voltou-se para Arthur e, olhando para os sapatos com fivelas, calculou que número
calçaria. - Deve ser esta a medida. O senhor gostaria de as experimentar?
- Eh... sim, acho que sim.
- Muito bem, senhor. Queira sentar-se.
O assistente indicou um sofá, ao lado do balcão, e Kitty avançou para ele; deixou-se cair no assento e deu várias palmadinhas no estofo ao lado dela.
- Não faça esperar o homem, meu querido.
Arthur contraiu-se e depois resignou-se a alinhar no joguinho dela, com tanta dignidade quanta pudesse arranjar. Respirando fundo, foi até ao sofá, sentou-se ao lado de Kitty
e sorriu-lhe de forma tão indulgente quanto ele costumava ver os maridos reais a sorrirem para as esposas. Inclinou-se e desapertou as fivelas dos sapatos, tirou-os dos pés
e depois pegou nas botas, que o empregado lhe entregava. Calçou-as, levantou-se e deu uns passos para a frente e para trás, em frente de Kitty. O couro era duro e desconfortável
e magoava-lhe o tendão de Aquiles de tal forma que, embora fossem de uma elegância inegável, Arthur estava desejoso de as descalçar. Virou-se para Kitty.
- Então, que acha, minha querida? - Pronunciou as últimas palavras de forma muito leve, mas sentiu um ligeiro toque de prazer quando passaram pelos seus lábios. - Não estou
certo que me sirvam.
- Servem-lhe admiravelmente, Arthur, meu querido. Deve comprá-las de imediato.
- Oh!
Arthur não contava com tamanha afirmação e não queria gastar doze guinéus num par de botas que seria de um excruciante desconforto. Mas, se Kitty gostava delas...
- Muito bem - assentiu para o empregado. - Vou levá-las.
- Muito obrigado, senhor. Paga em dinheiro, ou ponho na conta?
Arthur sentiu uma nova vaga de embaraço a corar-lhe as maçãs do
rosto.
- Não tenho conta aqui e também não tenho comigo o dinheiro necessário.
O sorriso desvaneceu-se um pouco na cara do empregado.
- Isso é um infortúnio, senhor.
- Sim. Quer ter a bondade de colocar as botas de lado, enquanto vou ao banco levantar dinheiro?
- Claro que sim, senhor. Mas necessito de um pequeno depósito. Dez xelins chegarão.
Arthur anuiu tristemente, sentou-se e descalçou as botas, aliviado por acabar com a pressão nos calcanhares. Torceu o nariz, quando viu que os calcanhares das suas meias já
estavam esticados e rasgados. Calçou os sapatos e abotoou as fivelas, enquanto o empregado começava a tomar nota da encomenda.
- Posso saber a sua graça, senhor?
- É Simpson - disse logo Kitty. - O distinto senhor Miles Simpson.
- Muito agradecido, minha senhora. - O empregado terminou a nota e colocou-a entre as botas, em cima do balcão. - A nossa prática é
guardar as botas durante uma semana - explicou. - Depois disso, regressarão à montra. O depósito não tem devolução, infelizmente, senhor.
- Com certeza. - Arthur levantou-se, retirou a bolsa das moedas da casaca e deu ao homem a quantia pedida; depois, ofereceu o braço a Kitty.
- Vamos, minha querida.
Ela meteu-lhe a mão no braço, o empregado apressou-se a abrir-lhes a porta, e eles lá saíram da loja e caminharam pela rua abaixo. Kitty pôs a mão livre à frente da boca para
ocultar o riso e foi puxando Arthur pela rua fora, até estarem longe do alcance de visão da sapataria.
- Simpson? - perguntou ele. - Porquê Simpson?
- Porque não? É um nome perfeitamente admirável. Aliás, tive uma governanta maravilhosa chamada Simpson. - Ela afastou o braço de Arthur. - Bem, isto foi mesmo divertido.
- Sim. Acho que sim. - Agora que o momento terminara, Arthur não estava certo do que fazer a seguir. Tinha Kitty só para ele e não devia perder a oportunidade de aprofundar
a amizade. - Menina Pakenham... Kitty... Dar-me-ia a honra de almoçar comigo? - Apontou com a cabeça para o lado mais nobre da rua. - No Hotel Brown.
- Almoçar no Brown? - Ela elevou as sobrancelhas finamente arranjadas. - Bem, não sei. Que ficarão as pessoas a dizer se me virem na companhia de um jovem licencioso?
- Ah, mas como somos casados, as pessoas não teriam nada de que
falar.
Kitty fixou o olhar nele, por instantes, e depois riu-se.
- Bem, Miles, meu querido, parece que os Simpsons hoje almoçam no Brown.
Não se atreveram a continuar com a charada quando chegaram à sala de jantar do hotel. O Brown era o tipo de estabelecimento que contava com a melhor sociedade de Dublin entre
a clientela, e Arthur teve de cumprimentar com acenos de cabeça muitos conhecidos, antes de o chefe da sala os conduzir a uma mesa, junto a uma janela. Arthur não prestou
muita atenção à comida que pediu e, enquanto comia, a sua mente estava totalmente fixada em Kitty. A conversa dela mantinha a leveza e boa disposição que lhe eram habituais.
Quando Arthur tentou mudar para um assunto mais sério, com artimanhas, ela redireccionou-o para o humor frívolo e a coscuvilhice. Mas Arthur sentia-se feliz ao conversar com
ela dessa forma, tal como todos os jovens se prestam a mostrar deferência às mulheres que estão interessados em impressionar. Quando, por fim, resolveu dar uma olhadela ao
relógio de parede, do outro lado da sala, em frente à janela, Arthur ficou chocado ao verificar que quase tinham passado duas horas e que ele já estava quinze minutos atrasado
para o encontro com John Page:
- Raios!
Kitty sobressaltou-se.
- O que é?
- Esqueci-me completamente de uma reunião marcada. - Arthur corou. - Kitty, tenho de me ir embora.
- O quê? - Ela parecia magoada. - Tão cedo?
Arthur pediu a conta. Quando ela chegou, ficou horrorizado, ao ver que o montante era superior ao dinheiro que tinha na bolsa. Kitty leu a sua expressão com precisão, estendeu
o braço e deu-lhe um toque na mão.
- Por favor, permita-me. É o mínimo que posso fazer, se provoquei o seu atraso.
- Meu Deus! Não! - Arthur encostou-se na cadeira, com cara de quem tinha sofrido um insulto. - Não posso permitir isso, de maneira nenhuma.
- Ah, mas a vantagem é minha. - Kitty riu-se. - Você não pode pagar a conta; eu posso.
Arthur encolheu-se por dentro. Aquilo era horrível. Era quase a pior coisa que lhe poderia ter acontecido. Tinha querido impressionar Kitty Pakenham, e, no entanto, ali estava
ele, num embaraço financeiro, e, pior ainda, numa obrigação moral face a ela em que nenhum cavalheiro se devia permitir estar. Mas, que podia ele fazer? Ali estava a conta,
em cima da mesa, à sua frente, e a rude matemática era de todo incontestável. Amaldiçoou-se por ter pagado os dez xelins do depósito das botas. Isso tinha sido sob instigação
de Kitty, raciocinou. Portanto, havia alguma responsabilidade da parte dela pelo seu embaraço. Olhou para ela e assentiu:
- Insisto em pagar-lhe na oportunidade mais próxima.
- Acho bem que sim! Não tenho o costume de subsidiar os hábitos alimentares dos outros. De facto, insisto em que me pague a dívida o mais depressa possível. Na tarde deste
sábado. Virá tomar chá a nossa casa, em Russell Square. E pode pagar-me o que me deve, então - disse Kitty, com firmeza.
Arthur anuiu e fez uma vénia, quando se ergueu da mesa. Ao chegar à porta, olhou para trás e sorriu, quando a viu a olhar para ele. Ela sacudiu a mão num gesto para o mandar
embora, e Arthur apressou-se a chegar ao escritório de John Page. O agente bebia uma chávena de chá, e Arthur foi conduzido ao seu gabinete.
Page era um homem forte, com o pescoço carnudo e bochechas pesadas, avermelhadas, uma cor de alegria enganadora, neste caso. Os seus olhos frios e escuros revelavam a sua
verdadeira natureza, que era a de um indivíduo implacável, dedicado a acumular uma fortuna pessoal, tão grande quanto possível, com as comissões que cobrava sobre o rendimento
dos
seus clientes proprietários rurais. Ergueu-se da cadeira com ponderação e exibiu ostensivamente um pesado relógio e corrente de ouro, que tinha puxado do bolso do colete,
erguendo as sobrancelhas grossas para Arthur. Este ignorou o gesto e foi direito ao assunto:
- O meu irmão Richard escreveu-me de Londres a pedir que converta em dinheiro os seus bens aqui na Irlanda, logo que possível.
Page endireitou-se na cadeira com surpresa.
- Vender tudo, meu senhor?
- Tudo. Começando pela casa em Merrion Street. Depois, as propriedades em Kildare e, finalmente, Dangan.
Page franziu o sobrolho pensativo, por instantes, antes de responder.
- As primeiras duas não devem apresentar grandes problemas. Os preços em Dublin têm tido uma subida constante, desde o estabelecimento do parlamento. Porém, desde os tumultos
em França, existe a percepção de que ser proprietário na Irlanda já não é o investimento seguro que foi outrora. Não que alguma coisa vá permanecer daquelas noções de igualitarismo
contra a natureza, mas existe um medo entre os especuladores imobiliários de que haja uma revolta da parte dos irlandeses, e a percepção é tudo o que basta no mercado imobiliário,
senhor. Se vendermos agora a casa de Merrion Street, poderemos obter um bom preço. O mesmo com as propriedades em Kildare. Dangan é que é o problema. Não está, como o senhor
deve reconhecer, em condições de venda no presente. O castelo requererá obras consideráveis para se poder obter uma boa oferta no mercado. Deduzo que me autoriza a agir em
seu nome, no que a tais despesas de reparação diz respeito?
- Com certeza, desde que as despesas sejam controladas.
- Farei o que puder, senhor. - Sorriu para Arthur, e houve um momento de silêncio, antes de Page tossir e dizer de forma polida. - Deseja mais alguma coisa, senhor?
- Bem, sim - começou Arthur, pouco à vontade. - Sabe, acontece que neste momento me encontro num embaraço financeiro e...
- De quanto precisa, senhor?
- De quanto?
- Deduzo que quer que eu aumente a sua linha de crédito?
- Se não lhe for inconveniente...
- De maneira nenhuma, senhor. Tenho prestado esse tipo de serviço, desde há muito, a muitos jovens cavalheiros, como o senhor.
Arthur estava certo que sim. Era uma forma óptima de manter clientes de uma geração para a outra. Arthur olhou para cima, como se estivesse a fazer um cálculo mentalmente.
- Deixe-me ver. Uma quantia irrisória; digamos, quarenta guinéus.
Page assentiu e abriu uma gaveta por detrás da secretária. Ouviu-se o rodar de uma chave e depois o tilintar seco que o toque da mão do agente fazia ao pegar numa pesada coluna
de moedas. Page fitou-o de novo.
- Quarenta, foi o que disse?
Arthur anuiu, e Page contou as moedas, colocando-as em quatro colunas iguais em cima da secretária. Pegou num pequeno livro de registos e folheou até encontrar o nome de Arthur;
depois, molhou a pena no tinteiro e tomou nota.
- Aqui tem, senhor. Nas mesmas condições que a dívida existente.
- Muito obrigado, Page. É mais do que excelente da sua parte. - Arthur colocou as moedas na sua bolsa e ergueu-se, fazendo menção de se ir embora. - Tenho a certeza de que
estou a roubar-lhe tempo precioso.
O agente abriu as mãos e encolheu os ombros modestamente.
- Foi um prazer, como sempre, senhor. Tratarei dos assuntos do seu irmão, de imediato.
Logo que saiu do escritório do agente, Arthur regressou à sapataria, em Connaught Street, e pagou o restante do preço das botas de montar. Inconfortáveis como eram, olhou
para elas com afecto, no entanto. Afinal, fora devido àquelas botas que, passado tanto tempo, conseguira ganhar algum terreno na conquista de Kitty Pakenham.
Capítulo 71
A casa em Russell Square era fácil de encontrar. A residência Pakenham era uma das fachadas mais elegantes e imponentes de todas as viradas para a praça. Arthur deu uma olhadela
a ele próprio, para ter a certeza de que a sua aparência estava o mais alinhada possível. Escolhera usar o seu melhor uniforme, e um dos serventes dos oficiais do castelo
tinha passado a maior parte da manhã a engraxar-lhe as botas até ficarem com brilho espelhado. A porta abriu-se, ainda Arthur quase não acabara de bater, e um mordomo vestido
de escuro chegou-se para o lado para o deixar entrar.
- Meu Deus! Que rapidez!
- Estávamos à sua espera, senhor. A menina Pakenham disse-me para aguardar junto à porta. O seu sobretudo, senhor?
Logo que o mordomo pendurou o sobretudo de Arthur com todo o cuidado, conduziu-o até à sala de visitas. Kitty estava sentada num cadeirão confortável, junto à janela, e fingia
estar a ler. Levantou os olhos do livro, quando o convidado entrou na sala, e sorriu calorosamente.
- Olá, Arthur. Ou ainda será o meu marido, o distinto senhor Miles Simpson?
- Não sei. Isso é decisão sua.
Kitty inclinou a cabeça para um lado e levantou o rosto, numa ostensiva apreciação do jovem oficial, que ali estava em pé, à frente dela.
- Acho que gosto mais de si como é. Seremos Kitty e Arthur, por agora, sim?
- Muito me agradaria isso, sem dúvida.
- Óptimo. Venha sentar-se, Arthur. - Indicou com a mão outro cadeirão, do outro lado da janela, e voltou-se para o mordomo. - Vamos tomar chá e bolos, Malley.
- Com certeza, senhora.
O mordomo fez uma vénia formal e saiu da sala com grande elegância. Logo que ele fechou a porta, Kitty olhou para Arthur e baixou a voz.
- Foi direitinho ao meu irmão Tom, para o informar da sua chegada. Receio que o meu irmão esteja muito empenhado em ser antiquado e respeitável e que insista em ser meu acompanhante,
enquanto você estiver aqui em casa.
- Não vem mais ninguém tomar chá?
Kitty fez um sorriso matreiro.
- E porque quereria eu compartilhá-lo com outras pessoas?
Arthur não sabia como responder a tal questão e limitou-se a sorrir,
até que se lembrou de uma coisa.
- Espere um momento. - Procurou dentro do bolso da casaca e tirou a bolsa para fora. Rapidamente contou umas moedas e entregou-as a Kitty. - Para pagar o almoço.
- Obrigada. - Pegou rapidamente nelas e meteu-as dentro de uma pequena caixa de costura, ao lado da poltrona, logo olhando para a porta da sala. - Tenho de o avisar, Arthur,
de que o meu irmão tem tendência para ver em qualquer ser masculino da minha simpatia um marido potencial.
Arthur ficou chocado.
- Ele não está a tentar ver-se livre de si, pois não?
- Pelo contrário. Ele parece pensar que eu sou demasiado boa para qualquer potencial pretendente. Sabe, ele está à espera de herdar o título de conde nos tempos mais próximos
e teme ficar ligado com alguma figura menos digna com que eu possa casar. Não que o Arthur não seja digno; sei que é de boas famílias. Eu só queria pô-lo de sobreaviso, no
caso de o Tom se comportar de forma algo estranha, quando o conhecer.
- Estranha?
- Frio, antipático. Esse tipo de coisa.
Mal acabara a frase, quando a porta se abriu, e um homem vestido de forma muito discreta entrou na sala. Parecia ter uns anos mais do que Arthur e as suas feições eram tão
inócuas quanto o seu fato. Nem se preocu-
pou em sorrir ao atravessar a sala e ao oferecer a mão ao oficial, que se tinha levantado do cadeirão para um cumprimento formal. Arthur sorriu.
- Deve ser o Tom. Eu sou Arthur Wesley
- Eu sei. A Kitty contou-me tudo a seu respeito.
O coração de Arthur afundou-se e ele pensou:
- Oh, meu Deus! Que terá ela dito?
- Tenha calma. Não é tudo mau. - Um sorriso perpassou os lábios de Tom. - Estou certo de que não se importará que lhes faça companhia ao chá?
Ele não esperou por uma resposta e olhou em redor, à procura de outra cadeira.
- Sente-se aqui. - Arthur indicou a cadeira onde tinha estado sentado. - Fique com a minha.
- Aquela? - Tom olhou para a cadeira. - Essa não é sua para a poder oferecer. Não seja idiota, Wesley. Sente-se. Eu vou buscar outra.
Escolheu uma cadeira da mesa de jantar e colocou-a a pouca distância dos cadeirões, antes de se sentar, ficando acima deles, embora a sua estatura fosse baixa. Arthur percebeu
de imediato que Kitty estava certa no que tinha dito acerca da ansiedade do irmão quanto ao seu estatuto social. Tom deu uma palmada com as mãos nas coxas das pernas.
- Então, Arthur, fale-me um bocadinho de si.
- Não há muito a dizer. A minha família é de Meath. Não muito longe de Pakenham Hall. Certamente que já tinha ouvido falar de nós.
Tom apertou os lábios e anuiu ligeiramente, como se se estivesse a recordar do nome da família, e Arthur esforçou-se por não entrar em competição com aquela pose afectada.
- Tenho o posto de tenente. Sou ajudante no castelo e membro do parlamento pelo município de Trim.
- Trim? - Tom franziu o sobrolho e, de repente, a expressão iluminou-se e ele sorriu. - Já me recordo! Você deu uma tareia nas umas àquele estupor do O'Farrell, não foi?
Arthur assentiu, aliviado por conseguir causar uma qualquer impressão agradável no irmão de Kitty.
- Grande trabalho, Wesley! Mostrou àqueles estupores radicais uma ou duas coisas. Bem feito. Então, pensa fazer nome como político? - Torceu o nariz. - Não posso dizer que
tenha lido uma única menção a si nos jornais de Dublin, desde a eleição de Trim.
- E costume ficarmos na retaguarda, enquanto aprendemos o ofício. Tenho a certeza de que me atribuirão um papel mais preponderante, quando chegar a altura.
- Só se se dedicar activamente à sua persecução. Como os seus ir-
mãos. Eles sim, estão a causar uma grande impressão em Inglaterra. Porque não faz como eles e não lhes segue os passos, eh?
- Tenho outros deveres.- Arthur apontou para o uniforme. - O exército exige metade do meu tempo.
- Disparate! Qualquer tolo sabe que os soldados em tempo de paz são uma cambada de preguiçosos.
- Imagino que os franceses depressa irão pôr fim à nossa... preguiça. - Arthur respondeu, em tom gélido. - Pelo que li nos jornais, é tiro e queda. Os franceses parecem querer
persuadir as outras nações a adoptar as suas ideias revolucionárias, na ponta da baioneta.
-Eu também leio os jornais, sabe? - Tom abanou a cabeça. - Aquilo não vai dar em nada. Ouça o que lhe digo. Os franciús vão fartar-se daquelas reformas absurdas antes de o
ano terminar. O Rei Luís terá de novo a mão no leme e tudo voltará ao rumo normal.
- Espero que sim, Tom. Espero mesmo.
- E sem uma guerra, terá de comprar as comissões para subir na hierarquia.
- É verdade - concedeu Arthur. Percebeu que Tom continuava a tentar calcular quanto é que ele valia. - Mas, devo conseguir chegar a capitão no ano que vem, ou no seguinte.
- O ordenado de capitão é coisa de galináceos. - Os olhos de Tom brilharam com a perspectiva de um trocadilho sem nível. - Grão de milho! É o que é!
Arthur e Kitty entreolharam-se e ambos se juntaram às gargalhadas do irmão dela. O ar divertido de Tom depressa desapareceu e fixou Arthur com um olhar de escrutínio.
- O pagamento não é o suficiente para sustentar um homem casado. Isso, eu sei.
- Tom! - Kitty mostrou-se escandalizada. - O Arthur é meu amigo. Eu não o convidei para o chá para ele ser insultado por ti. De certeza que o ordenado de capitão é perfeitamente
respeitável.
- Na é, não, e isso significa que um tipo tem de pedir dinheiro emprestado para se safar. É verdade, não é, Wesley?
Arthur não respondeu, limitando-se a olhar para as botas.
- Quando vem o raio do chá? - murmurou Tom.
Quando chegou, um silêncio frio pairou sobre o magnífico serviço de porcelana e as primorosas fatias de bolo. Beberam o chá e trincaram com delicadeza os bolos, e durante
todo o tempo, Arthur desejou que um buraco se abrisse sob a sua cadeira e o engolisse. Melhor ainda, que se abrisse debaixo de Tom, para que ele pudesse continuar a conquista
de Kitty em paz. Mas Tom permanecia sentado, a olhar pela janela, enquanto os seus
pesados maxilares mastigavam a comida com um ritmo compassado. Logo que o mordomo levantou a mesa, Arthur fez um esforço determinado para fazer conversa de circunstância,
no que foi plenamente ultrapassado por Tom, que tinha a conversação mais chata que Arthur alguma vez encontrara, e conseguia discorrer sem esforço, durante quase uma hora,
acerca do aumento dos preços das propriedades e das rendas comerciais em Dublin. Por fim, Arthur entregou o palco a Tom e bateu em retirada antes do tempo, agradecendo a Kitty
a hospitalidade e combinando vê-la de novo, no baile que se seguisse no castelo. Ela prometeu-lhe a primeira dança, e quando ele lhe pegou na mão e se inclinou para a beijar,
sentiu que ela lhe apertava os dedos afectuosamente, antes de ele se endireitar de novo.
Quando regressou a Merrion Street, Arthur subiu ao seu quarto e pegou no violino. Como sempre, a coordenação disciplinada de dedos e mente ajudou a acalmar as emoções que
o agitavam. Mas enquanto tocava, a sua memória regressou ao chá da tarde em casa da Kitty. Ele sabia que tinha causado uma fraca impressão em Tom, e conseguia compreender
totalmente o ponto de vista do outro. O ordenado de capitão não era o suficiente para dar a Kitty uma casa decente, e ele nem era sequer capitão. Pior ainda; estava endividado.
Não mais do que outros oficiais do exército, mas, mesmo assim, era algo de pesado e de embaraçante para um homem que tentava impressionar Tom Pakenham.
A não ser que houvesse uma guerra, a subida de Arthur na hierarquia militar seria absurdamente lenta. E se houvesse uma guerra, Tom não poderia ficar satisfeito que a sua
irmã fosse cortejada por um homem que tinha todas as hipóteses de ser morto por uma bala, uma explosão ou uma peste. Mesmo que não fosse morto, Arthur poderia ser ferido e
ficar aleijado. Imaginava Kitty a olhar para ele com pena ou, pesadelo dos pesadelos, como objecto de ridículo. Preferia morrer.
Portanto, se o exército não era o melhor caminho para a fama e a fortuna, que tal a política? Aí, pelo menos, Arthur conseguiria produzir algum impacto. Com Richard firmemente
instalado no Tesouro, em Londres, e William a fincar os seus dentes políticos na Casa dos Comuns, com um pouco de nepotismo, Arthur conseguiria subir a escada da hierarquia
política muito depressa. E conseguiria impressionar Tom, esperava. Mas estaria Kitty preparada para esperar tanto tempo?
Parou de tocar abruptamente e bateu com o arco na coxa da perna, furioso. Que tinha ele metido na cabeça? Kitty tinha-lhe chamado amigo. E se isso fosse tudo o que ele significava
para ela? No entanto, ali estava ele a projectar fantasias loucas de matrimónio, sem nenhuma prova segura de que a paixão era recíproca. Porém, mesmo sem prova segura, ele
tinha um pressentimento no seu coração de que ela devia sentir por ele algo parecido
com a paixão que ele sentia por ela. Vira-o nos olhos dela, ouvira-o na sua voz doce e sentira-o naquele aperto de dedos, quando se despedira.
Muito bem. Mesmo que ela sentisse algo por ele, Arthur tinha de fazer muito mais do que até agora para conquistar o respeito do irmão. Caso contrário, Tom faria tudo ao seu
alcance para se colocar entre a irmã e o oficial sem dinheiro que tivesse a temeridade de pretender a sua mão em casamento.
Durante o resto do ano, Arthur voltou a sua atenção para o melhoramento da sua actuação política. Começou a tomar parte em alguns dos debates menos importantes, onde as suas
qualidades ainda verdes de orador podiam ser refinadas, sem o risco de fazer figura de tolo em frente a uma casa cheia. E com a situação em França a piorar em cada mês, havia
muitas ocasiões em que os membros do parlamento irlandês apareciam em grande número para discutir fervorosamente o impacto da revolução francesa. Era claro para todos que
os ideais revolucionários estavam a medrar na Irlanda e que a terra irlandesa se estava a provar aterradoramente fértil para as sementes francesas.
Em Novembro, Charles Fitzroy apareceu com grande estrondo à frente de Arthur, no parlamento, e meteu-lhe um panfleto nas mãos.
- Leia isto! Isto vai dar sarilho!
O panfleto assinado por um "whig do Norte" ia muito para além das ambições liberais de Grattan e aproximava-se perigosamente de um apelo declarado à Irlanda para que cortasse
as suas ligações com a Grã-Bretanha e se tornasse numa república autónoma. Com as vendas do panfleto a atingirem os milhares, o clamor público exigiu conhecer a identidade
do autor. A seu tempo, lá se soube que era obra de um jovem intelectual presbiteriano, chamado Wolfe Tone. Arthur ficou picado com as críticas de Tone à forma de governação
da Irlanda. Uma frase em particular agiu como uma espora na determinação de Arthur em querer emergir das bancadas anónimas dos membros regulares do parlamento, os homens a
que Tone se referia como "as comuns prostitutas da bancada do Tesouro".
No final do ano, a sociedade de irlandeses unidos, presidida por Tone, tinha todos os parâmetros para ser o primeiro clube jacobino a abrir na Irlanda. Arthur começou a perceber
o sentido do plano de cortar laços com a Irlanda do seu irmão mais velho. Com homens como Tone a alcançarem a ribalta, iria haver problemas nas ruas de Dublin, bem como em
todas as propriedades rurais da terra.
Quando encontraram um comprador para a casa de Merrion Street, Arthur foi forçado a regressar a alojamentos mais modestos. A parte de casa que alugara era confortável, mas
constituía uma prova eloquente das suas
limitações financeiras. O que tornou a sua situação ainda mais dolorosa foi o afecto que Kitty admitiu abertamente sentir por ele, quando acabava o ano. Ela amava-o.
Disse-lho numa noite, durante um jantar, quando ambos se tinham escapulido para uma pequena alcova, enquanto os outros convidados ouviam um recital. Ele beijou-lhe a mão e
depois o rosto, com o coração a bater apaixonadamente no peito, e disse-lhe que também a amava. Que a tinha amado desde que se tinham conhecido no piquenique. Abraçaram-se,
saboreando o contacto físico que se tinham negado durante tanto tempo. Embora se sentisse mais feliz e contente do que alguma vez na vida, Arthur sabia que, a menos que as
circunstâncias mudassem, este momento o assombraria para o resto dos seus dias.
Capítulo 72
Primavera, 1793
Montando a cavalo, pela vereda que conduzia a Pakenham Hall, Arthur Wesley sentiu o coração a acelerar. De cada lado do caminho, o parque privado estendia-se a perder de vista.
Apenas no ano passado tinha parecido tão acolhedor. Como cenário da sua crescente afeição por Kitty, não tinha rival. Por entre uma sebe de carvalhos antigos, viu as águas
do lago Derravaragh brilharem à luz da manhã. Próximo estava um roseiral decorativo, que se afastava da perfeição geométrica da maior parte dos parques campestres, espalhando-se
pelos relvados numa colocação ordenada aparentemente ao acaso, que era bastante agradável à vista. Mais adiante, os verdes outeiros, que circundavam o parque, expostos ao
sol, tornavam-se numa esmeralda brilhante, em contraste com o céu profundamente azul. Soprava uma brisa suave, que abanava o topo de um grupo de coníferas e roçava nos ramos
nus dos castanheiros que ladeavam a estrada. Arthur olhou para cima e quase sorriu aos farrapos de nuvens brancas sem falhas, que iam flutuando e sendo empurrados no céu pelo
vento, com graciosidade plena.
Há mais de um ano, quando ele tinha começado oficialmente a cortejar Kitty, a aproximação a Pakenham Hall enchia-lhe o coração com uma paz e contentamento que ele nunca antes
sentira em toda a vida. Todos os longos anos de procura de algum propósito para a sua vida, de algum significado, pareciam ter terminado. Em Kitty encontrara alguém com quem
tinha a certeza de poder passar o resto dos seus dias. De todas as mulheres que conhecera, só ela lhe tinha provocado aquela sensação de frescura de vida que torna a perspectiva
de cada novo dia em algo a que
se dá as boas-vindas, em vez de em algo que se tem de suportar. Casaria com Kitty, pagaria as dívidas, alugaria uma casa modesta na Carrington Square e passaria as noites
na companhia da sua jovem mulher, na sala de visitas, a ler ou, talvez, a tocar violino. E depois iriam para a cama. O pensamento apropriou-se de imediato da sua mente; o
cheiro do cabelo dela e a curva graciosa do seu pálido pescoço eram-lhe quase palpáveis. Um pensamento nada romântico e nada digno, recriminou-se. Mas, por amor de Deus, ela
era linda!
Desde o Outono que se tinha deixado vaguear pelos sonhos de matrimónio. Cada vez que cavalgava até Castlepollard para a ver, havia sempre o êxtase de pensar que ela se sentia
igualmente apaixonada. Certamente que a forma como olhava para ele, a alegria que ela parecia viver na sua companhia, e o beijo ocasional que ela lhe dava indicavam mais do
que ternura. Mas quando Kitty visitava Dublin, num daqueles infindáveis ciclos de bailes e de piqueniques, o seu espírito brilhante e a sua beleza natural atraíam outros oficiais
para ela, como abelhas espalhafatosas em volta de uma flor. Nessas ocasiões, cada sorriso dela e cada explosão súbita de riso de contentamento feriam o coração de Arthur como
uma lâmina de aço gelado, e os medos de a perder para outro homem espalhavam-se na sua mente como veneno.
Em consequência, ele sabia que o namoro teria de acabar, de uma maneira ou de outra. Ou ela se tornava sua mulher, ou... a alternativa era demasiado dolorosa para ser sequer
contemplada.
Se dependesse dela, ele tinha praticamente a certeza de que ela consentiria. Dera-lhe a entender isso, quando ele aflorara o assunto, na semana anterior. A dificuldade residia
no irmão. Tom Pakenham tinha herdado as propriedades da família no Outono e iria ser conde quando a sua velha e enferma avó morresse. Um futuro brilhante estava à frente do
jovem e, compreensivelmente, tinha-lhe subido à cabeça, concluía Arthur. A perspectiva de ver a irmã casada com um oficial do exército, mal pago e com perspectivas limitadas
de qualquer tipo de promoção financeira ou social, não lhe podia ser atraente. Se Arthur fosse completamente honesto para consigo próprio, sabia que, de forma nenhuma, estaria
preparado para ver a sua irmã Anne a casar por amor, abaixo do seu nível social. A única via aberta que lhe restava para impressionar o enfadonho irmão de Kitty era usar o
seu lugar parlamentar para ganhar alguma reputação política. Recentemente tinha adquirido um papel mais proeminente e tinha falado contra a execução popular do Rei Luís. Também
tinha comprado uma comissão de capitão. Nem uma palavra de regateado elogio aos seus esforços tinha existido da parte de Tom.
Era claro para Arthur que a sua reputação no parlamento não iria
ascender muito mais e que tinha de arriscar tudo agora e pedir formalmente a Tom a mão da irmã. A esse propósito, tinha-lhe escrito uma carta muito elegante, solicitando uma
entrevista para discutir as suas intenções. Tom respondera-lhe em termos igualmente graciosos, a convidar o capitão Arthur Wesley a comparecer na mansão da família. E assim,
ali estava ele, cavalgando para o encontro, debatendo-se com a ansiedade de que esta sua decisão de resolver o assunto pudesse, afinal, resultar na perda da hipótese de casar
com a sua amada Kitty.
A vereda dava uma curva à volta de uma vasta plantação de rododendros, e ali estava Pakenham Hall: uma elegante casa de campo, com belas vistas para as paisagens circundantes.
Arthur sabia que nunca poderia possuir uma casa como aquela. Parou o cavalo por instantes e contemplou-a. Depois encheu o peito do ar fresco da Primavera e, com um toque ligeiro
das esporas, incitou o cavalo a prosseguir pela vereda acima, até à entrada principal.
Kitty devia tê-lo visto a aproximar-se, porque ele ainda estava a alguma distância quando ela apareceu, vinda do alpendre, enrolada numa capa negra, e correu para Arthur.
Ele desmontou da sela, deixando raspar os pés sobre a gravilha ao tocar no chão e levou o cavalo pelas rédeas até junto dela. Quando se aproximou, Kitty olhou para ele e fez-lhe
um sorriso brilhante, e, por um momento, todas as dúvidas e medos do jovem oficial se dissolveram numa explosão de puro afecto e prazer. Kitty agarrou-lhe no braço e encostou-se
ao seu ombro.
- Arthur! Pensava que nunca mais vinhas!
Ele fez questão de se mostrar desapontado com a falta de fé dela.
- Estou dentro da hora, queridíssima. Pontual; quase ao minuto.
- Oh, tu! - Ela deu-lhe um murro, a brincar, no braço. - Eu queria dizer que estou há horas à tua espera, no alpendre.
- Horas?
- Bem, parece que passaram horas. Seja como for - o tom da voz dela tornou-se mais sério -, tu estás aqui agora.
- Sim... Onde está o Tom?
- No escritório. Ele tem umas tantas cobranças de dívidas para tratar antes de te receber.
Arthur franziu o sobrolho. Era típico do irmão dela. Dar prioridade a algumas dificuldades irrisórias com os rendeiros, em vez de receber o pretendente da irmã, era uma tentativa
crua de colocar o visitante no lugar onde pertencia. Esta derradeira afronta não augurava nada de bom. Arthur apertou a mão dela debaixo do braço dele.
- Que achas que ele vai dizer?
Kitty encolheu os ombros.
- Não sei. Honestamente, não sei. Ele mudou tanto, neste ano que passou.
- Herdar uma fortuna produz esse efeito em alguns homens- disse Arthur com amargura; Kitty olhou-o de soslaio e ouviu-o acrescentar:
- Ele vai recusar a minha proposta. Sinto que isso vai acontecer. Porque eu não tenho dinheiro.
- Não tens, por enquanto - respondeu Kitty. - Mas eu conheço-te, Arthur Wesley. Sei que tens potencial. Um dia, ganharás a tua fortuna... Não que a riqueza seja importante
para nós - acrescentou logo ela.
Arthur sorriu.
- Desconfio que o Tom esteja disposto a aceitar o potencial como depósito. Para ser perfeitamente honesto contigo, Kitty, tudo o que te posso oferecer é o meu amor. Não há
mais nada. Mesmo que fosse o herdeiro da minha família, o castelo de Dangan está hipotecado, e a minha mãe até teve de vender a maior parte dos seis por cento dela para poder
sobreviver. Tudo o que tenho é o ordenado de capitão e uma pequena mesada do meu irmão Richard. É tudo.
- E chega. - Kitty sorriu e deu-lhe um beijo, de seguida. - Anda
- disse, puxando o braço dele. - Está frio. Vamos para dentro, sentar-nos à lareira.
Ao aproximarem-se da casa, um criado surgiu apressado na entrada e pegou nas rédeas do cavalo de Arthur, levando-o para os estábulos. Com Kitty ainda agarrada à manga da casaca
do seu uniforme vermelho-vivo, subiram os degraus gastos até à entrada principal. Para além da ombreira, o cheiro familiar da cera e de uma ligeira humidade envolveu Arthur
como se fosse um velho amigo. Kitty retirou o braço, e ele seguiu-a através do hall de entrada e pelo corredor sombrio, até à biblioteca. No caminho, passaram a porta fechada
do escritório de Tom, onde a voz do irmão de Kitty podia ser ouvida de forma abafada, em conversa com o agente. Arthur esteve tentado a parar por um momento e a escutar, mas
depressa tirou a ideia da cabeça; estava ali para apelar aberta e honestamente à mão de Kitty, não para emboscadas, como um espião à cata de informações.
Um grande fogo brilhava na grade metálica da lareira, e Kitty conduziu-o a um longo sofá, que estava de frente para o lume e beneficiava totalmente do seu calor. Um livro
estava aberto, pendurado no braço do sofá, e Arthur reconheceu uma cópia do Ensaio sobre a Compreensão Humana de Locke, que tinha oferecido a Kitty no Natal. Apontou com a
cabeça para o livro.
- À minha espera toda a manhã, eh?
- A maior parte da manhã - respondeu Kitty e depois corou. -
Bem, pelo menos, assim o senti. Não conheço muitas raparigas que se fossem sentar num alpendre gelado à espera que o seu querido chegasse.
- E quantas raparigas conheces tu?
- O número suficiente para fazer tal julgamento - respondeu Kitty
- Sinto-me submerso em gratidão.
- Não tentes ser sarcástico, Arthur. Não condiz contigo. - Kitty fez cara de amuo e depois tocou a sineta de mesa. - Tomas chá?
- Chá? Acho que preciso de alguma coisa um bocadinho mais forte para acalmar os nervos.
- Nervos? - Kitty elevou as sobrancelhas. - Tu? Nunca teria acreditado nisso. Sensível sim, mas nervoso... Arthur Wesley, tu és mesmo uma caixinha de surpresas, e quem o diz
sou eu.
Ele inclinou-se para ela e fitou-lhe os olhos com franqueza.
- Por favor, Kitty, não brinques comigo assim. Nunca levei nada tão a sério, nem nunca arrisquei tanto em toda a minha vida.
Ela devolveu-lhe o olhar em silêncio, por instantes, e depois esticou uma mão e fez-lhe uma festa na cara.
- Deus te abençoe, meu querido, querido Arthur. Tu amas-me mesmo, não amas?
Ele assentiu e disse em voz baixa:
- E tu? Diz-me que é verdade o que eu espero que tu sintas. Diz-me.
Ela sorriu, e os seus lábios abriram-se:
- Eu...
A porta da biblioteca abriu-se com um rangido, e os dois afastaram-se imediatamente. Uma criada entrou e imobilizou-se, à espera de instruções.
- Vou querer chá, Mary.
- Sim, menina Pakenham.
- E um brandy para o senhor capitão.
- Sim, menina Pakenham.
Mal a criada saiu da sala, Arthur inclinou-se para Kitty, mas o encantamento fora quebrado, e ela parecia embaraçada, percorrendo a biblioteca com os olhos, e depois deixando-os
cair num tabuleiro de xadrez de marfim, colocado sobre a mesa dos jogos de cartas.
- Xadrez! Vamos jogar uma partida de xadrez, enquanto esperas pelo Tom.
- Xadrez? - repetiu Arthur, sem entusiasmo. - Tem mesmo de
ser?
- Sim, tem. Anda lá.
Sentaram-se a jogar, ao sol de Inverno, que penetrava pela janela da
biblioteca. A mente preocupada de Arthur não se conseguia concentrar no jogo, e ele ficou numa situação desesperada, num espaço de tempo muito curto.
- Pensava que os soldados supostamente deveriam ser bons em tácticas - troçou Kitty, enquanto segurava na bela chávena de porcelana.
- Deus nos acuda, se tu representas os homens que comandarão os nossos exércitos se houver uma guerra.
Kitty bebeu mais um pouco de chá e depois pousou a chávena com delicadeza.
- Achas que haverá uma guerra, Arthur?
- Vai haver uma guerra, Kitty. Não a podemos evitar por mais tempo. Aqueles radicais franceses têm de ser parados. De outra forma, a Inglaterra sofrerá a mesma carnificina
de França. Talvez não seja já agora, mas num dia muito em breve.
- Tom diz que se houver guerra, será a mais longa e a mais sangrenta que a Inglaterra alguma vez enfrentou.
- Provavelmente está certo, desta vez - respondeu Arthur. - Ele quase sempre pensa que está, mesmo quando está enganado.
- Tem cuidado, Arthur. É do meu irmão que estamos a falar, seja como for.
- Desculpa. - Arthur rapidamente levou a conversa para terreno mais seguro. - Se houver guerra, a França tem de ser derrotada. Ela é como qualquer outra nação. Não pode prosseguir
sem o rei e sem a nobreza. Quem mais os poderia liderar? Não está na natureza das pessoas comuns governarem-se a si próprias. Precisam de nós, mais do que nós precisamos delas.
Nós somos o que dá estrutura e segurança às suas existências.
- Tu pareces estar muito certo disso. - Kitty franziu o sobrolho.
Arthur pegou na sua rainha e avançou com ela no tabuleiro.
- Xeque!
Os olhos de Kitty pousaram no tabuleiro, por um momento, e ela concentrou-se. Abanou a cabeça:
- Pobre Arthur... Olha... - A mão dela colocou o bispo entre o rei e a rainha. - A tua rainha está encurralada. Terás de a sacrificar, e depois será xeque-mate em... duas
jogadas.
- O quê? - Arthur franziu a testa ao olhar para as peças e estava pronto a protestar, quando a porta se abriu de novo, e um criado entrou.
- Senhor capitão Wesley.
- Sim.
- O senhor irá recebê-lo agora. Se quiser fazer o favor de me acompanhar, senhor.
Arthur ergueu-se da mesa, e, antes que se afastasse, Kitty agarrou-lhe na mão e apertou-a delicadamente.
- Boa sorte!
Tom Pakenham estava a organizar os cadernos de anotações em cima da secretária e nem se dignou a levantar os olhos, quando o seu convidado entrou no escritório.
- Wesley! É bom que tenha vindo. Sente-se.
Não havia cadeira nenhuma perto da secretária de Tom, e Arthur teve de ir buscar uma à secretária do funcionário, no canto da sala, e carregá-la pelo escritório fora. Colocou-a
mesmo em frente ao irmão de Kitty, sentou-se de costas bem direitas e esperou. Tom molhou a pena no tinteiro e começou a escrever uma nota.
- Já o atendo...
O silêncio intensificou-se no escritório com cheiro a bafio, e era apenas quebrado pelo arranhar da pena. Arthur fervilhava com raiva perante este tratamento humilhante, mas
para bem de Kitty, e, portanto, dele próprio, manteve a língua silenciosa e o corpo imóvel. Por fim, Tom empurrou o documento para o lado, baixou a pena e sorriu para o convidado.
- Pronto. Acabei! Nem imagina o tempo que gasto com o raio dos rendeiros.
- Tive alguma experiência disso. Tomei conta dos assuntos do meu irmão Richard, quando ele partiu para Inglaterra. Para além disso, as coisas estão difíceis. Os lavradores
já se vêem aflitos para conseguirem alimentar os seus, quanto mais conseguirem pagar a renda.
Tom deitou-lhe um olhar duro.
- Você parece um daqueles franciús radicais!
- Nada poderia estar mais longe da verdade, Tom!
O irmão de Kitty recostou-se na cadeira.
- De qualquer maneira, Wesley, quer-me parecer que está aqui para pedir a minha permissão para casar com a pequena Kitty.
- Estou, sim.
- E que razão poderei eu ter para consentir em tal pedido?
- Há afecto mútuo entre nós. Eu posso fazê-la feliz.
- Afecto? Felicidade? Está tudo muito bem, mas que perspectiva de vida tem você, homem? Eh? Perspectivas? Não passa de um capitão. Acha que a minha irmã consegue viver com
o seu ordenado?
Era precisamente o argumento que Arthur esperava, e tinha preparado a resposta.
- Escrevi ao meu irmão a pedir um empréstimo para comprar uma
comissão de major. Ele concordou. Isso significa um ordenado maior. O suficiente para nós dois, nos tempos mais próximos.
- E o futuro? Assumo que desejem ter filhos. E depois?
- Levará algum tempo até eu chegar a coronel - admitiu Arthur.
- A não ser que, como é óbvio, haja uma guerra e, então, estarei numa posição prioritária para uma rápida promoção, sem ter de comprar mais comissões.
- Deveras? Você tem-se em muito boa conta. Se calhar em conta boa de mais. Acontece que eu mandei investigar minuciosamente o seu carácter e o seu currículo. Nenhum irmão
consciencioso faria menos do que isso.
- Tom justificou-se com poucas palavras. - Parece que os seus superiores não conseguem discernir qualquer tipo de qualidades extraordinárias na sua pessoa. Mais ainda, fui
informado de que tem dívidas substanciais. Se comprar uma comissão de major, qualquer aumento de ordenado terá de ser usado para abater a dívida ainda maior surgida com a
compra da patente. - Tom sorriu. - Estou certo de que entende a minha dificuldade, Arthur. Acredito que você possa ser um bom homem, e certamente que a Kitty gosta de si,
mas não posso permitir que ela desperdice os seus afectos com um oficial júnior, com poucas perspectivas de promoção e uma perspectiva muito mais vasta de empobrecimento.
Arthur cerrou os dentes com força, por instantes, antes de conseguir responder num tom tenso, mas cordial.
- Como disse, se a guerra vier, terei perspectivas.
- Se vier a guerra, será enviado para combater. Um campo de batalha é, pelo menos, tão perigoso quanto uma taberna de Dublin. - Tom sorriu. - Em qualquer caso, se for para
a guerra, há uma boa hipótese de não regressar. Quer que Kitty se vista de negro, tão pouco tempo depois de se vestir de branco?
Arthur baixou os olhos.
- Não.
Como final retórico, Tom ergueu a palma da mão, como se fosse um advogado a resumir a apresentação de provas conclusivas. Depois ficou em silêncio.
Arthur sentiu-se furioso, de coração esfrangalhado e fisicamente doente, mas tinha controlo suficiente sobre a sua pessoa para manter o rosto inexpressivo. Levantou os olhos
azuis brilhantes para enfrentar o seu anfitrião.
- Negar-me-á a mão dela em casamento, Pakenham?
- Certamente que sim.
- Porquê?
- Porquê? - Tom franziu o sobrolho, surpreendido. - Por todas as
razões que já lhe dei e outras mais. Wesley, a verdade nua e crua é que você não é suficientemente bom para a minha irmã. Não o é agora. Nem nunca o será. E quando Kitty cair
em si, ela verá isso.
Arthur sentiu as veias a dilatarem-se com uma fúria gelada, quando Tom falou da irmã em termos tão mercenários.
- A Kitty ama-me.
- Ela disse isso?
- Disse. - Arthur olhou-o com ar de desafio. - Podemos casar sem o seu consentimento.
Era uma ameaça desesperada e nada cavalheiresca, mas fora tudo o que lhe ocorrera. Os lábios de Tom torceram-se num esgar de desprezo. Assentiu, inclinou-se para a frente
na secretária e baixou o tom de voz, até se tornar num rosnar ameaçador.
- Pois pode. Ela ficaria na miséria, é claro; e quanto a si, trataria de lhe arruinar a vida. Tem a minha palavra de que devotaria todas as minhas energias a esse fim. Nem
lhe passe pela cabeça tal coisa, Wesley.
Tom recostou-se de novo e apontou para a porta.
- Quero que saia. Tem a minha resposta. Nada mais há a dizer.
A mente de Arthur acelerou, procurando desesperadamente um argumento que ainda não tivesse usado, mas Tom estava certo: nada mais havia a dizer. Nada. Tudo tinha terminado
e ele tinha perdido Kitty. Tinha perdido tudo o que lhe interessava. Ergueu-se da cadeira e fez uma vénia com a cabeça.
- Adeus, Pakenham.
- Adeus, Wesley.
Virou-se e saiu do escritório, batendo com a porta atrás de si. Não regressou à biblioteca, mas marchou direito à porta de entrada, pelos degraus abaixo e na direcção dos
estábulos. O criado já o aguardava com o cavalo, como se estivesse à espera que o capitão partisse apressadamente. Por detrás de si, ouviu passos a correr sobre a gravilha.
- Arthur! Arthur, espera!
Parou e virou-se devagar. Kitty aproximou-se e viu a terrível expressão de dor no seu rosto.
- Oh, não...
- Lamento, Kitty.
- Não, espera. Espera aqui. Eu falo com ele. - Ela voltou-se e correu para a entrada e depois olhou para trás de novo e gritou mais uma vez.
- Espera!
Mas Arthur sabia que era uma causa perdida. Tom Pakenham não mudaria de ideias. Tinha-se oposto ao casamento desde o início, facto de que só agora Arthur se apercebia com
amargo discernimento. Ele não era
suficientemente bom para Kitty. As palavras picavam-no como golpes. Porque eram verdadeiras. Pegou nas rédeas do cavalo e saltou para a sela. Esporeou o cavalo com toda a
força e, levantando a gravilha do chão, virou costas a Pakenham Hall para sempre, galopando pela vereda fora.
Quando regressou ao seu apartamento em Dublin, a raiva tinha-se desvanecido, e apenas lhe restava um desespero doloroso a esmagar-lhe o coração. Subiu os degraus para o quarto
e fechou a porta à chave. Lá fora a noite caíra, e o tremeluzir alaranjado de um candeeiro de rua enquadrava-lhe a janela. Estava frio, e Arthur acendeu uma vela e, em seguida,
a lareira. Pouco depois, um brilho quente e ondulante encheu o quarto; sentou-se num banco e contemplou o centro dos carvões que ardiam. Com Kitty fora da sua vida, que lhe
restava? Que poderia ele fazer? Arthur olhou em redor do quarto e apercebeu-se de como estava farto de tudo. De como estava farto dos tontos presumidos da Corte do vice-rei.
Os olhos pararam no violino, que repousava no outro canto do quarto, e, com um sorriso ténue, levantou-se e foi buscar o instrumento. Durante algum tempo, dedilhou as cordas,
absorto nos seus pensamentos. Depois, pegou no arco e começou a tocar. Quando as notas agudas se fizeram ouvir, Arthur fechou os olhos e deixou que a memória regressasse à
infância. A Dangan; à sala de música e ao pai a oferecer-lhe com orgulho o violino; à família deleitada a aplaudir, da primeira vez que ele tocou para ela em casa.
Enquanto tocava, a mente divagava, livre, sem rumo.
A loucura revolucionária em França iria atravessar fronteiras e ameaçar o resto do mundo com o seu contágio. Teria de ser parada, se a ordem, se a própria civilização eram
para continuar. O rei francês estava morto, assassinado pelo seu próprio povo, e a Inglaterra não teria outra opção, para além da guerra. Nesse caso, estaria Kitty a salvo
na Irlanda, com a sua população nativa de inquietos agricultores católicos? Wolfe Tone já estava a planear uma insurreição sangrenta no seu exílio francês. Na França, outra
vez. Sempre a França. Ela tinha de ser esmagada, antes que esmagasse outras nações debaixo da sua pata sangrenta.
Arthur ergueu o violino e lentamente deixou-se cair no banco. Olhou para as chamas vermelhas e viu que o mundo estava a mudar. A menos que os homens actuassem agora, uma nova
idade das trevas de selvajaria da turba esmagaria toda a Europa no seu abraço. De repente, apercebeu-se de que estaria entre os homens chamados nesta hora marcada pelo destino
e temeu não estar à altura do desafio. Tom Pakenham tocara num nervo sensível, quando dissera que ele não era bom o suficiente. Ele tinha razão. Arthur não era bom o suficiente
para a Kitty, nem para os desafios que se aproximavam.
Anuiu lentamente. Teria de melhorar; teria de provar ser digno do nome da família. Tinha perdido Kitty e tinha agora de se empenhar em servir os objectivos do seu país e do
seu povo. Nada mais interessava. Tudo o que o ocupara até então fora diversão e distracção, e tudo teria de ser sacrificado em prol do seu novo objectivo na vida.
Os olhos de Arthur contemplaram o violino que tinha no colo. A madeira envernizada e morna tinha um toque macio e familiar. Tinha sido sua por mais de quinze anos; a sua companhia
e fonte de conforto e prazer, longe de todos as outras agruras da vida. Nessa estreita concha de madeira viviam memórias incontáveis, que agora lhe pesavam, até que soube
o que fazer; de repente, soube o que tinha de fazer, agora. Pôs-se de pé, caminhou para a lareira e, segurando o braço do instrumento, colocou-o em cima dos carvões em brasa.
Por instantes, o violino permaneceu imutável nas chamas ondulantes. Depois, um tom amarelado apoderou-se do verniz, e as chamas alongaram-se, acelerando por todas as suas
curvas elegantes. Quando o vermelho-cereja se começou a tornar negro e a estalar, lágrimas saíram dos olhos de Arthur e rolaram-lhe pela cara abaixo.
Capítulo 73
França, 1793
A carroça da frente seguia aos altos e baixos pela estrada fora, num movimento irregular que parecia que jamais ganharia ritmo certo. Napoleão tinha dobrado uma capa grossa
por cima do cabedal rebentado do banco do condutor, mas a superfície sulcada por debaixo das rodas metálicas ainda lhe sacudia as costas e lhe fazia ranger os dentes, à medida
que a carroça sem molas, carregada de munições, progredia aos solavancos na estrada de Avignon a Nice. Ao lado dele, o condutor da carroça segurava as rédeas numa mão rudemente
calejada e com a outra mão agarrava num pequeno pão recheado com chouriço de alho.
Segurando-se no braço do assento, Napoleão virou-se para trás e observou a fila de oito vagões que compunham o comboio. Cada um estava carregado até ao topo com barris de
pólvora e correntezas de balas de canhão. Para além das carroças, Napoleão comandava ainda meia companhia de homens da guarda nacional, usada para dissuadir os ataques dos
rebeldes que ainda poderiam estar escondidos nos campos. Antes de ter fugido da Córsega, Napoleão tinha tido conhecimento das revoltas que se seguiram à execução do Rei Luís.
A maior parte tinha sido esmagada com entusiasmo impiedoso; o raspar e cair da lâmina da guilhotina ainda estava fresco na mente das populações do Sul de França. Agora mantinham-se
silenciosas
por medo, mas os olhos dos habitantes das pequenas aldeias e vilas, por onde o comboio passara nos últimos dias, desde que partira de Avignon, não escondiam a hostilidade.
No início, Napoleão sentira pouca simpatia por aquelas gentes, que tão preparadas estavam para o regresso do despotismo do antigo regime. Os seus sentimentos tinham-se convertido
em raiva, ao saber que a sua família tivera de sair de Toulon, quando os habitantes decidiram desafiar a autoridade da convenção de Paris. Tendo já antes fugido da Córsega,
agora eram refugiados de novo. A mãe tinha-lhe escrito a dizer que tinham encontrado abrigo numa vila perto de Marselha, mas Napoleão ainda se sentia ansioso em demasia por
causa deles. Porém, a sua raiva contra os rebeldes tinha sido rapidamente saciada, depois de ter testemunhado a vingança brutal que Paris exercera sobre o povo de Lyons, Avignon
e Marselha, e deu por si a interrogar-se acerca da validade da política cruel dos seus companheiros jacobinos face aos participantes na revolta. A maior parte era da mesma
baixa extracção social dos camponeses que ele conhecera na Córsega. Tinha sido fácil para os padres e outros simpatizantes monárquicos manipulá-los contra a convenção. Não
fazia sentido castigá-los de forma tão dura. Tal repressão só aumentava a brecha que dividia a França. Do que eles precisavam era de uma ideia, de um sonho, de um destino.
Sim, reflectia ele, uma ideia colectiva de destino. Uma que unisse toda a França e a transformasse na maior potência da Europa.
Napoleão sorriu ao pensar no assunto. Um meses antes tinha sido um ardente nacionalista corso. Mas Paoli e os seus seguidores tinham-lhe roubado esse sonho. Agora, só a sua
família lhe importava. Isso e a necessidade de satisfazer a sua ambição ardente. Se não podia ser um grande homem na Córsega, então, gostasse ou não, esculpiria o seu destino
ali, em França, na sua qualidade de francês. Uma nova nação estava a ser forjada, e isso significava oportunidades para os que fossem audaciosos. Também havia perigos, como
Napoleão bem tentava não esquecer. Ainda no outro dia, o general Brunet tinha sido preso devido à demasiada lentidão no envio de reforços para o exército que cercava Toulon.
Brunet estava marcado para morrer, e os seus camaradas oficiais tinham-no abandonado com uma celeridade detestável. Era esse o destino dos que não serviam o novo regime com
o fervor requerido, ele bem sabia. Se a oportunidade se apresentasse, ele teria de imediato de provar ser digno de promoção e de responsabilidades maiores.
A carroça deu um salto para um lado, e Napoleão viu-se aflito para se agarrar ao braço do assento e evitar ser atirado do banco abaixo. Murmurou uma praga, e o condutor a
seu lado fez um sorriso trocista.
- Há quanto tempo faz este trajecto? - perguntou-lhe Napoleão.
- Há doze anos, meu capitão.
- A estrada é assim sempre tão má até Nice?
- Má? - O condutor ergueu uma sobrancelha e deu uma gargalhada curta e seca. - Este é o bocado bom, senhor. Depois de Marselha, piora. Fica muito pior. Há locais em que precisamos
de todos os homens para empurrar as carroças pelos socalcos acima.
O condutor deu mais uma dentada no pão e mastigou depressa, ao ver que mais um troço de buracos se aproximava. Os pensamentos de Napoleão regressaram melancolicamente às suas
hipóteses de promoção. Enquanto o encarregassem de organizar comboios de abastecimento de artilharia, não conseguiria nenhuma glória para si próprio, nem conseguiria dar nas
vistas de um patrono poderoso que tornasse as suas ambições realizáveis.
Os dias passavam devagar e o comboio lá ia girando pelos campos fora, iluminado pelo brilho claro do Sol do final do Verão. Cada noite, Napoleão verificava se as mulas eram
bem alimentadas e se as sentinelas estavam bem colocadas e depois deitava-se no seu saco de dormir e não sossegava durante horas, contemplando o universo estrelado, enquanto
os seus homens conversavam alegremente uns com os outros, à roda das fogueiras. De manhã, acordava os homens cedo, ignorando os resmungos queixosos, e punha o comboio de novo
na estrada, enquanto o ar estava fresco e limpo. Depois de chegar a Marselha, os vagões seguiram para leste, para Toulon, onde entregariam parte da pólvora ao general Carteaux,
antes de prosseguirem para Nice.
No final do segundo dia depois de terem deixado Marselha, o comboio parou na vila de Beausset, a curta distância de Toulon. Logo que deu as ordens para o acampamento dessa
noite, Napoleão dirigiu-se ao gabinete do presidente da Câmara. A parte metálica de uma das rodas estava a começar a soltar-se, e Napoleão precisava que um ferreiro fosse
arranjá-la.
O edifício da Câmara era pequeno e indistinto, não destoando da vila que administrava, e já só lá estava um funcionário a trabalhar, quando Napoleão chegou. Este, um jovem
muito moreno, tinha apenas uma bela camisa de linho vestida e enfrentava uma pilha de papéis em cima da secretária, naquela sala abafada. O recém-chegado tossiu, de modo a
atrair a sua atenção:
- Queira desculpar...
- Sim?
O funcionário pousou a pena e ergueu os olhos.
- Sou o capitão Buona Parte e comando o comboio de munições. Parámos em Beausset esta noite, e eu preciso de um ferreiro.
O funcionário abanou a cabeça.
- Não o posso ajudar, capitão. Tanto o ferreiro quanto o ajudante
foram recrutados pela guarda nacional, quando o exército do general Car-teaux passou por aqui. Como quase todos os saudáveis homens de Beaus-set.
- Mas não você.
- Não. - O funcionário apontou com a cabeça para baixo. - Pé chato. Foi a primeira vez que teve alguma utilidade para mim.
- Compreendo. - Napoleão franziu a testa. - Então, onde fica o ferreiro mais próximo?
- Havia um em Ollioules, mas também foi levado pelo exército. Pode tentar o comando do general Carteaux. Lá devem saber onde pára o nosso ferreiro. A última informação que
tive foi de que o exército estava acampado perto de Ollioules.
- A que distância fica isso?
- Uma hora a cavalo, pela estrada de Toulon.
- Raios!
Napoleão cerrou o punho. Tinha sido um dia longo e cansativo, e a perspectiva de ter de passar várias horas a organizar a reparação da roda da carroça deixava-o furioso.
O funcionário observou-o, por instantes, e depois acrescentou:
- Pode tentar a estalagem do outro lado da praça.
- Ah, sim?
- Devem lá estar alguns oficiais do comando de Carteaux. Talvez lhe possam dar outras indicações, bem como autorização para usar os serviços do ferreiro. Isto é, se não estiverem
demasiado ocupados a dar graxa aos representantes.
As sobrancelhas de Napoleão ergueram-se.
- Que representantes?
- Do comité de segurança pública. Foram enviados para assegurar que Carteaux faz o que tem de fazer àqueles sacanas dos monárquicos, lá em baixo, em Toulon.
A pulsação de Napoleão acelerou. Os representantes do comité eram a força impulsionadora dos exércitos franceses. Eram eles que tinham o poder de promover oficiais bem sucedidos
e de demitir outros, que não tivessem sido diligentes o suficiente ou que parecessem ter pouca sorte. Fitou o funcionário.
- Quem são eles?
- Fréron e Saliceti.
- Saliceti? - Napoleão abanou a cabeça com a surpresa. A derradeira vez que o vira fora em Paris, quando Saliceti o encarregara de espiar Paoli. E agora ele era um representante.
Por um momento, Napoleão interrogou-se se seria melhor ignorar Saliceti, dado a forma como as coisas
tinham terminado na Córsega. Mas, depois, deduziu que a culpa não tinha sido sua. Tinha feito tudo o que Saliceti lhe tinha pedido. De facto, era Saliceti que lhe devia um
favor, algo que Napoleão talvez pudesse explorar. Não que os grandes homens estivessem inclinados a pensar o melhor daqueles que lhes recordavam tais dívidas, admitiu. Mesmo
assim... a não ser que decidisse enfrentar o homem, nunca saberia se se teria cruzado com o tipo de oportunidade de que precisava tão desesperadamente. Olhou de novo para
o funcionário. - Esse Fréron... como é ele?
O funcionário encolheu os ombros e respondeu com cautela.
- Não lhe sei dizer. Eu mal vi o homem...
- E? - pressionou-o Napoleão.
- Tudo o que sei é que ele costumava publicar um jornal jacobino, em Paris. Tem, portanto, ligações poderosas. É o tipo de homem que nos faz ser muito cuidadosos com o que
dizemos à frente dele, se é que está a compreender-me, capitão.
- Compreendido. - Napoleão fez um cumprimento com a cabeça.
- Muito bem. Obrigado, cidadão.
O funcionário respondeu com idêntico gesto de saudação e depois voltou ao seu trabalho, enquanto o capitão de artilharia deixava o gabinete da Câmara e atravessava a pequena
praça da vila, em direcção à estalagem, no lado oposto.
Dois soldados da guarda nacional estavam espreguiçados num banco ao lado da entrada e ergueram-se de imediato, pegando nos mosquetes, quando Napoleão se aproximou. Um estendeu
o braço para impedir que ele entrasse na estalagem.
- Desculpe, senhor. Que assunto o traz aqui?
- Assunto? - Napoleão abriu os olhos na direcção do homem. - O assunto que aqui me traz só a mim diz respeito, soldado. Agora, deixe-me passar.
O homem abanou a cabeça.
- Desculpe, senhor capitão. Este edifício foi requisitado pelos representantes. Tem acesso proibido, excepto aos oficiais do comando.
- Estou aqui para falar com o cidadão Saliceti - respondeu Napoleão com firmeza. - É meu amigo.
- Amigo? - repetiu o soldado, com um ligeiro tom de gozo.
- Sim, amigo - disse Napoleão. - Se não me quer deixar passar, então, diga-lhe que o capitão Buona Parte ficaria muito satisfeito se pudesse falar com ele.
Por instantes, o homem da guarda nacional hesitou; depois, virou-se para o camarada.
- Tu ficas de vigia, enquanto eu vou lá dentro.
Avançou para dentro da casa e encostou a porta atrás de si; Napoleão conseguiu escutar o eco dos seus passos no soalho de madeira, quando o homem atravessou a sala. Houve
uma troca de palavras, abafada pela distância, e depois a porta abriu-se de novo, e o soldado da guarda nacional fez sinal a Napoleão para entrar.
- O cidadão Saliceti vai recebê-lo.
Dentro da estalagem estava sombrio, embora pequenos dedos de luz rosada penetrassem pelas portadas das janelas, na parede ao fundo. Dois homens de casacas debruadas a dourado,
desapertadas, estavam sentados à mesa, debruçados sobre alguns mapas estendidos entre eles. Os restos de uma generosa refeição permaneciam em duas travessas grandes ao lado.
Um deles era atarracado, careca e usava óculos. Contemplou Napoleão com uma expressão de irritação, quando este se aproximou da mesa. O outro homem ergueu-se da cadeira e
estendeu a mão para o cumprimentar.
- Buona Parte! Há meses que não o via. Bem... desde...
- Desde Paris, cidadão. Quando me pediu que regressasse à Córsega-
- Ah, sim. - Saliceti sorriu, pouco à vontade. - Uma ocorrência infeliz, meu amigo. Teve sorte em escapar com vida.
Napoleão encolheu os ombros.
- Bem o pode dizer, porque foi apenas com isso que a minha família escapou. Perdemos tudo, quando fomos forçados a partir.
O outro representante, Fréron, fungou.
- A revolução implica sacrifícios para todos nós, caro jovem.
Napoleão olhou ostensivamente para os restos da refeição e respondeu.
- Evidentemente.
Fréron sussurrou.
- Seria sensato mostrar por mim o respeito devido a um representante da convenção, capitão.
Saliceti interveio, com uma risada nervosa.
- Paz, cidadão Fréron. O meu jovem amigo não o quis ofender. Aliás, ele é um soldado profissional, e eles estão habituados a expressar-se sem rodeios.
- Um soldado? - Fréron contemplou o jovem magro que tinha à frente e, obviamente, não gostou do que viu. - Se este rapaz é o típico oficial que comanda as nossas tropas, então
a nossa causa bem que está perdida.
Napoleão sentiu o sangue a gelar-se nas veias, ao lutar para controlar a fúria. Fitou Fréron, com os olhos bem abertos, mas manteve os lábios cerrados. Fréron riu-se da sua
expressão e depois virou-se para Saliceti.
- Oficiais! Bah... Se os nossos oficiais são tão bons, porque estão os
inimigos da França a derrotar-nos em todas as frentes? Devíamos fuzilar mais uns quantos, para ver se os outros cumprem o seu dever como deve ser.
Saliceti ergueu uma mão, com o intuito de acalmar o colega.
- Sim, sim. Já muitas vezes explicou as suas ideias acerca da melhor forma de motivar os nossos homens, cidadão. E, em parte, concordo consigo. Mas aqui o capitão Buona Parte
tem tudo o que faz um bom oficial e é também um bom jacobino, um de nós; portanto, por favor, não lance atoardas quanto à sua lealdade à revolução.
Fréron não parecia convencido e limitou-se a encolher os ombros.
- Se é você que o diz... Só que eu tenho tido poucas provas da existência de grande lealdade ou competência nos oficiais nesta zona. Temos de nos considerar felizardos por
Carteaux estar disponível para assumir o comando do exército. Fez um bom trabalho ao derrotar aqueles rebeldes em Lyons e Avignon. E depressa dará conta do ninho de traidores
em Toulon.
- Sim, certamente que o fará - disse Saliceti delicadamente. - Para um homem com uma experiência militar tão limitada, ele provou ser formidável a esmagar aquelas revoltas.
- A experiência militar nada é comparada com o poder do zelo revolucionário. - Os olhos de Fréron brilharam por detrás das lentes dos óculos. - É através do exercício desse
poder que a revolução terá sucesso.
Napoleão ouviu e sentiu desprezo. O zelo é apenas uma das forças que os oficiais têm de saber controlar. Mas, por si só, tanto é um perigo, quanto uma virtude. Fréron era
a prova clara de que os assuntos militares deveriam ser deixados nas mãos de militares, não de políticos.
- Claro que os nossos líderes precisam de zelo - concordou Saliceti. - Mas isso não vai ajudar muito o general Carteaux, neste momento. Do que ele precisa é de reforços. -
O representante voltou-se para Napoleão, para lhe explicar melhor. - Desde que os rebeldes entregaram Toulon aos britânicos, o inimigo tem enchido as defesas de homens. Para
além dos britânicos, chegou também uma força poderosa de tropas espanholas, assim como algumas da Sardenha e de Nápoles. Mandámos pedir reforços, mas, aquilo de que o general
precisa mesmo é de especialistas em cercos. Particularmente agora, que ele perdeu o capitão Dommartin.
- O capitão Dommartin?
- Era o comandante de artilharia de Carteaux. Ficou gravemente ferido há uma semana atrás. E agora o bom do general diz que pouco pode fazer até que Dommartin seja substituído.
Já enviámos mensagem ao exército dos Alpes para mandarem alguém, e, até lá, os nossos homens nada podem fazer, para além de estarem de rabinhos sentados a vigiar Toulon.
Napoleão sentiu o cérebro a acelerar, devido à implicação destas no-
tícias. Que infelicidade para Dommartin. Que felicidade para Napoleão, se conseguisse persuadir Saliceti e, mais importante ainda, Fréron. Clareou a voz.
- Cidadãos, poderei fazer uma sugestão?
- O quê? - Fréron fitou-o impaciente. - Que é, capitão? Fale!
- Como o cidadão Saliceti sabe, eu sou oficial de artilharia. - Napoleão empertigou-se. - Poderei comandar a artilharia do general Carte-aux.
- Você? - Fréron abanou a cabeça. - Por que motivo o escolheríamos a si? Precisamos de um especialista em cercos.
- Eu sou especialista em cercos. - Napoleão respondeu com firmeza. - Estudei o assunto em profundidade e fui o melhor do meu ano na Academia Militar em Paris.
Era mentira, mas Fréron não tinha maneira de o saber. O único risco era que Saliceti se recordasse dos pormenores do currículo de Napoleão.
- Isso não chega. Precisamos de um homem experiente, não de um estudante, por mais promissor que possa ser.
Napoleão sentiu a oportunidade a fugir-lhe por entre os dedos e deu um passo mais na direcção de Fréron, inclinando-se um pouco para a frente, para dar ênfase às palavras.
- Eu posso substituir Dommartin. Dê-me um canhão e eu entrego-lhe Toulon. - Voltou-se para Saliceti. - Dê-me a oportunidade para o provar. É tudo o que peço.
- É tudo o que pede? - Fréron deu uma gargalhada. - Não é muito, de facto. Mande embora o rapaz, Saliceti, e voltemos ao trabalho.
- Espere! - Napoleão agarrou na manga de Saliceti. - Que tem a perder, se me nomear? Eu fui treinado na melhor escola de artilharia da Europa. E é preciso um oficial para
comandar a artilharia, e eu sou o único que o pode fazer.
- Bem...
- Ao menos nomeie-me até que o substituto de Dommartin chegue. Posso começar a trabalhar nas baterias do cerco. O que significa que o novo comandante de artilharia poderá
avançar com o cerco, logo que chegue.
Saliceti apertou os lábios, pensativo.
- Tem razão.
Fréron resfolegou.
- Oh, Saliceti, tenha paciência! Ele está a fazer-nos perder tempo.
- Não, isso é que não está. O capitão Buona Parte pode poupar-nos tempo, como ele diz. Nada temos a perder nomeando-o. Quem sabe, podemos até ter muito a ganhar. Eu digo que
o nomeemos. Fá-lo-emos sob a minha autoridade, se não quiser compartilhar a responsabilidade.
Napoleão manteve-se imóvel durante esta troca de palavras, quase não se atrevendo a respirar, enquanto o seu futuro imediato era decidido. Se Saliceti levasse a dele avante,
então Napoleão entraria em combate. Pôr cerco a uma cidade altamente fortificada era um trabalho sujo e perigoso, como tinha descoberto o capitão Dommartin. Poderia ser a
morte de Napoleão. Mas a alternativa (uma procissão infindável de comboios de munições rodando aos tombos pelas estradas e caminhos esburacados do Sul de França) era má de
mais para aguentar.
Fréron recostou-se na cadeira.
- Põe isso por escrito?
Fez um sorriso frio, ao cheirar a vantagem que poderia retirar da situação.
Saliceti anuiu.
- Sim.
- Então, está bem. Sob sua autoridade e até que chegue o substituto.
- Concordo. - Saliceti virou-se para Napoleão. - Vou dizer ao meu secretário para pôr as suas ordens por escrito imediatamente. Pode esperar lá fora.
- Muito obrigado, senhor. - Napoleão sorriu. - Prometo que não se arrependerá.
- É bom que assim seja, capitão. Estou certo de que imaginará o destino que terá, se falhar.
Capítulo 74
O general Carteaux era uma figura imponente. Alto, de ombros largos e, como se esperava de um homem da cavalaria, ostentava um bigode negro de pontas em arco. Murmurava para
si próprio, enquanto lia o documento que o jovem oficial de artilharia lhe apresentara. Fora da tenda, os sons do exército acampado enchiam o ar: os cavalos a relincharem,
a conversa casual de homens fora de serviço e o grito áspero dos sargentos de serviço.
Napoleão passara o comando do comboio de munições a um dos seus tenentes, ao raiar do dia. Pegara num dos cavalos e tinha cavalgado a toda a brida pela estrada de Ollioules,
até encontrar o comando do general Carteaux. Logo que acabou de ler a carta de nomeação, Carteaux levantou os olhos do papel.
- Capitão Buona Parte, as suas credenciais são impressionantes. O cidadão Saliceti tece-lhe grandes elogios. Tudo indica que ele pensa que me poderá auxiliar convenientemente.
- Espero que sim, senhor.
- Eu também. Mas vou deixar-lhe um aviso de forma muito clara.
- Carteaux espetou o dedo na direcção de Napoleão. - Este é o meu exército, e eu já era soldado quando rapazes como você ainda mamavam na teta da mãe. Sei o que estou a fazer
e não aprecio mesmo nada que alguém me venha dizer como o fazer. - Recostou-se na cadeira. - Já me chegou o Dommartin. Vocês, da artilharia, pensam que sabem tudo.
Napoleão manteve a boca fechada. Nada poderia dizer que não provocasse os preconceitos do homem ainda mais. Era melhor aguentar a bronca e depois prosseguir com a tarefa.
Mudou de tema.
- Senhor, posso perguntar-lhe quais são os seus planos para o cerco?
- Os meus planos? - Carteaux esboçou um sorriso. - Os meus planos são para eu conhecer e você executar.
- Com certeza, senhor. Mas, se me dissesse qual o meu papel neles, então, eu poderia fazer com que as armas estivessem prontas para servir os seus propósitos.
- Muito bem. - Carteaux levantou-se e, pegando num telescópio que se encontrava no topo do conteúdo do seu cofre de viagem, dirigiu-se para a entrada da tenda. - Siga-me,
que lhe explicarei.
No exterior, conduziu Napoleão a uma pequena elevação. Do seu cume, notaram a inclinação do terreno monte abaixo e além, talvez a cinco quilómetros, vislumbraram o grande
porto de Toulon, aninhado por debaixo do monte Faron, à frente do porto de abrigo, onde uma grande frota de navios de guerra estava ancorada. Carteaux olhou para a cena, por
um momento, antes de se dirigir a Napoleão.
- Vai ser uma noz difícil de quebrar. Para além das defesas da cidade propriamente dita, há vários fortes que circundam o porto. Os três maiores são Malbousquet, ali, o mais
próximo de nós; La Malgue, no lado mais distante do porto; e o forte no topo do monte Faron. Teremos de tomar os três, se queremos controlar as aproximações a Toulon. E depois
- Carteaux fez um gesto com a mão por cima dos navios no porto -, há que lidar com a frota inimiga. Contámos mais de vinte navios armados, até agora, e há boatos de que mais
vêm a caminho.
- Boatos?
- Temos os nossos espiões em Toulon. Dão-nos bastantes informações acerca da força do inimigo e das suas posições. De momento, assim nos dizem, o inimigo tem para cima de
dez mil homens em Toulon. Eu tenho doze mil. Portanto, tenho de esperar até estar muito reforçado, antes de iniciar o ataque. Entretanto, quero que os canhões estejam prontos
a apoiar a minha infantaria, quando assaltar os fortes. Esse, capitão Buona Parte, é o seu trabalho.
- Sim, senhor.
- E agora, penso que deseja inspeccionar o seu novo comando.
- Sim, senhor.
- Muito bem. O parque de artilharia é ali, no monte em baixo.
Apontou para uma colecção heterogénea de tendas, a alguma distância por detrás das posições toscamente fortificadas dos postos avançados. Para um dos lados, espalhavam-se
os carros de canhões e armões do trem de artilharia de Carteaux. Parecia tudo pouco ordenado, e os poucos homens visíveis estavam sentados, desocupados, ao redor de uma mão-cheia
de fogueiras, que ardiam em fogo lento. Carteaux apontou com a cabeça na direcção deles.
- Pode ir, então, capitão. Quero um relatório sobre a prontidão para batalha da artilharia, no final do dia. Sempre pode fazer alguma coisa útil, até que chegue o seu substituto.
- Sim, senhor.
Napoleão pôs-se em sentido e fez uma continência formal. Carteaux acenou com a cabeça em reconhecimento e depois regressou à sua tenda.
À medida que ia descendo a elevação, Napoleão atravessou o acampamento de um dos batalhões da infantaria regular. Os homens olharam-no carrancudos, quando passou; só uns poucos
se deram ao trabalho de se levantar e fazer continência. Embora as tendas tivessem sido erguidas em linhas direitas, as valas das latrinas tinham sido cavadas a curta distância
do campo e eram tão pouco profundas que já estavam a transbordar. Napoleão torceu o nariz, enojado, e apressou o passo dali para fora.
Quando chegou ao parque de artilharia, encheu o peito de ar e marchou até junto da fogueira mais próxima, onde três homens fumavam cachimbos. Ao ouvirem o som de passos, viraram-se
para ele, mas nem tentaram erguer-se ou fazer continência ao capitão.
- De pé! - gritou. - Quem é que vocês pensam que são?
Relutantemente, os três homens puseram-se de pé e adoptaram uma
postura mais formal, ao fazerem continência. Os olhos de Napoleão explodiram, ele deu um passo em frente até junto do homem mais próximo e atirou-lhe o cachimbo ao chão.
- Qual é o seu nome, soldado?
- Cabo Macon, senhor.
- Cabo? Onde está a sua divisa?
- Com o meu equipamento, senhor.
- Então, é onde vai ficar. É o soldado Macon, daqui em diante.
Os olhos do soldado abriram-se de surpresa.
- Não pode fazer isso!
- Sou o seu novo comandante - rosnou Napoleão. - Posso fazer o que quiser, soldado.
- Não! - Macon abanou a cabeça. - Protesto.
- Protesto registado, e processado por insubordinação. - Antes que o homem pudesse responder, Napoleão virou-se para outro dos três homens. - Nome?
- Soldado Barbet, senhor.
O homem pôs-se em sentido, o mais empertigado que podia.
- Muito bem, Barbet; onde está o oficial sénior do campo?
- Os oficiais estão em Ollioules, senhor.
- Ollioules?
- Na estalagem, senhor.
A expressão no rosto de Napoleão turvou-se.
- Que miserável espécie de soldados são vocês todos?
Os três soldados olhavam para a frente, a direito, sem se atreverem a olhá-lo nos olhos.
- Bah! - Napoleão cuspiu no chão. - São uma porra de uma desgraça!
- Que raio se passa aqui?
Uma voz gritou por detrás dos soldados, e um instante depois um jovem sargento abriu caminho pelo meio deles e parou, colhido de surpresa, ao dar de caras com Napoleão.
- Nome?
O sargento pôs-se logo em sentido.
- Sargento Junot, senhor! Funcionário do estado-maior, adstrito ao comandante de artilharia.
- Ah! Então, trabalha para mim.
- Senhor?
Napoleão pegou na carta de comissão e entregou-a ao sargento Junot.
- Sou o capitão Buona Parte, o novo comandante de artilharia.
Junot deu uma olhadela ao documento e devolveu-o, quando Napoleão gesticulava na direcção de Macon.
- A minha primeira ordem é que faça dar entrada no diário de campo que este homem é despromovido ao posto de soldado e processado por insubordinação. Multa de uma semana de
ordenado e uma semana de trabalho nas latrinas. Entendido?
- Sim, senhor.
- Muito bem. A seguir, quero que envie alguém à procura dos meus oficiais, e que eles se apresentem aqui de imediato. Logo que isso esteja feito, venha ter comigo com um bloco
de apontamentos. Estarei além, a inspeccionar as armas.
- Sim, senhor. - Junot fez continência e dirigiu-se à tenda larga, no centro do campo. Napoleão virou-se para os três soldados:
- Procurem o resto dos homens. Quero toda a gente na parada. Já.
Vão!
Napoleão caminhou com passos largos, direito aos canhões, tentando não sorrir. Estava satisfeito consigo mesmo. A primeira impressão que teriam dele seria a de um disciplinador
severo, e isso era exactamente o que queria que eles pensassem. Precisava de obter resultados rápidos do seu novo comando. A não ser que pudesse mostrar aos seus superiores
que era um homem que fazia as coisas depressa e com eficiência, eles não hesitariam em substituí-lo, quando o exército dos Alpes resolvesse enviar alguém para ocupar o posto
do ferido capitão Dommartin.
Como tinha observado da posição de Carteaux, os canhões, os armões e as carroças estavam numa completa desorganização, e até os animais de carga pastavam no meio do equipamento.
Uma mula levantou a cabeça e olhou para o jovem oficial, quando ele começou a inspeccionar as armas, e depois baixou o focinho e continuou a pastar, desinteressadamente.
Logo que o sargento Junot regressou, Napoleão começou a ditar notas minuciosas, à medida que se ia movendo pelo parque de artilharia, a escrutinar cada carro de canhão e caixa
de munições até ao mais pequeno pormenor. Quando terminaram a tarefa, Napoleão olhou para as notas.
- Vinte e seis canhões de vários calibres. Quatro estão fora de serviço, aguardando reparações. - Levantou os olhos do papel. - Porque é que a forja de campo não os reparou?
- Não temos uma forja de campo, senhor.
- O quê? - Napoleão abanou a cabeça. - Como diabo pode um trem de artilharia de um exército funcionar sem forja?
- O general tinha prometido ao capitão Dommartin que iria tratar disso, senhor.
- Ah, sim? Há quanto tempo?
- Há um mês, senhor.
Napoleão exalou o ar profundamente, através dos dentes cerrados.
- Um mês... Bem, terei de ser eu a tratar do assunto. A próxima coisa: quantos homens tem esta força?
Junot respondeu de imediato.
- Trezentos e treze homens, incluindo o senhor capitão, senhor. Desses todos, duzentos e noventa e oito estão aptos para o serviço.
Napoleão fitou o sargento com ar de aprovação. Ali estava um homem que parecia responder de imediato a um desafio.
- E que proporção desses homens é como aqueles que encontrei junto à fogueira? Assumo que não são regulares.
- Não, senhor, são voluntários. Temos um terço de voluntários. Os restantes são regulares ou artilheiros navais.
- Haverá mais algumas boas notícias para mim, sargento?
Junot sorriu.
- Quererá isso dizer que não devo mencionar que não temos animais de carga em número suficiente para puxar as armas, nem as ferramentas necessárias à sua manutenção, e que
quase não há pólvora nem balas para as armas que temos?
Napoleão tirou o chapéu da cabeça e passou uma mão pelo cabelo escuro e liso.
- Compreendo. Bem, parece que vamos estar muito ocupados nos próximos dias.
- Sim, senhor - anuiu o sargento Junot. - Já não é sem tempo.
Napoleão deu-lhe um murro suave no ombro.
- Isso mesmo, homem! Ora bem; penso que será melhor dar conhecimento aos homens do que lhes está reservado. Vá anunciar-me.
O sargento Junot desapareceu a correr, e Napoleão esperou um momento antes de recolocar o chapéu na cabeça, cruzar as mãos atrás das costas e dirigir-se ao campo aberto, em
frente às tendas. Quando se aproximava, o sargento Junot gritou.
- Oficial de comando presente!
Os olhos atentos de Napoleão repararam que alguns homens se moviam com o intuito de tomarem as suas posições, mas que a maior parte andava às voltas, com uma hesitação que
feria o seu sentido de profissionalismo.
- Mexam-se! - berrou-lhes Junot.
Napoleão percorreu a fileira da frente, escrutinando o seu novo comando, em especial os quatro tenentes que estavam à frente das respectivas divisões. Um deles, já com alguma
idade e uniforme a perder a cor, estava claramente bêbedo e custava-lhe bastante manter-se em sentido. Napoleão percorreu a fileira e parou abruptamente em frente do homem
bêbedo.
- Nome?
- O meu nome? - As palavras enrolaram-se na boca do tenente.
- O meu nome é tenente Charles de Foncette, senhor capitão, senhor.
- Você está bêbedo, não está?
O homem fez um riso matreiro.
- Sim, meu capitão.
Napoleão, com grande rapidez, deu um passo na direcção dele e empurrou o peito do homem com toda a força. O tenente Foncette voou para trás e caiu de costas; o impacto da
queda retirou-lhe o ar dos pulmões, com um arfar explosivo. De imediato, vomitou sobre a própria cara e para a frente. Napoleão apontou para os homens mais próximos.
- Você e você, atirem com esse estupor gordo para fora do meu campo. Levem-no para o comando central e deixem-no lá. Pode mandar alguém buscar os seus pertences, quando ficar
sóbrio. - Napoleão agitou uma mão em sinal de impaciência. - Então? De que estão à espera?
Enquanto os dois soldados relutantes ajudavam o oficial malcheiroso a pôr-se de pé e quase o arrastavam dali para fora, Napoleão virou-se para enfrentar os restantes. Dentro
do peito, o seu coração batia de forma selvagem. Este era o momento da verdade. O seu futuro dependia do que fizesse nos minutos seguintes. Se falasse bem, então, estes homens
aceitá-lo-iam como líder. Se falhasse no apelo ao espírito dos soldados, que os fazia alcançar grandes feitos em face de quase todo o tipo de adversidades, então, esta oportunidade
para esporear a sua carreira em frente estaria perdida. Napoleão encheu o peito de ar e começou a falar.
- Soldados! Perante vós está o inimigo. Os traidores de Toulon, que atraiçoaram o seu património e o venderam aos inimigos de França. O nosso inimigo tem a vantagem dos números,
defesas formidáveis e o apoio do fogo da marinha mais poderosa do mundo. Para quem esteja de fora, a nossa situação pode parecer ser causa de desespero. Que poderá este exército
alcançar contra uma fortaleza aparentemente inexpugnável? - Parou o suficiente para que o efeito retórico das suas palavras penetrasse nos corações dos soldados e depois intensificou
o discurso. - Este exército nada conseguirá, enquanto continuar num estado de tão desesperado desmazelo antimilitar como o que vim encontrar neste campo. Meu Deus! Até os
civis que nos acompanham fizeram mais esforço do que vocês. E se o inimigo alguma vez lançar um ataque ao exército que cerca Toulon, eu apostaria bom dinheiro que a comitiva
de seguidores do campo será um osso mais duro de roer para ele do que vocês! Senhores, para simplificar, vocês são uma total vergonha para o uniforme que usam, neste momento.
A menos que as coisas mudem, vamos perder esta luta, e bem pode ser o ponto de viragem da revolução. Todos os anos de sofrimento, amargados pelo povo de França para se conseguir
livrar da opressão dos aristos, terão sido em vão. Na era que aí vem, quando forem velhos, as gentes apontarão para vós e sussurrarão que vocês falharam nos vossos deveres,
quando a França de vós mais precisou... Dirão que falharam... - repetiu deliberadamente e depois virou-lhes as costas e contemplou as defesas distantes de Toulon, por instantes,
enquanto os homens digeriam a acusação. Depois, voltou-se de novo para eles e prosseguiu, num tom mais gentil.
- Esse é um futuro. Um futuro que temos de evitar que aconteça. Toulon pode ser tomada. Já estive aqui tempo que chegasse para verificar que Toulon não pode ser conquistada
por um ataque frontal. A nossa infantaria seria desfeita em pedaços, antes de conseguir tomar qualquer uma
daquelas fortificações. Só uma coisa pode pôr Toulon de joelhos. - Sorriu.
- A artilharia. Somos nós, senhores. Apenas nós. Temos de apontar à cidade todas as armas a que tenhamos acesso. Temos de cercar o inimigo com uma cobertura de baterias, que
penetrarão nas suas defesas como dentes. Construiremos as baterias mesmo debaixo do seu nariz, e, quando estiverem terminadas, empurraremos o inimigo para o mar. Não tenho
de vos dizer que vai ser uma situação perigosa e de que vamos precisar de todos os farrapos de coragem, força e diligência que possamos encontrar dentro de nós próprios. Isso
aplica-se tanto aos oficiais e sargentos quanto aos praças. Não haverá descanso para nenhum de nós. De agora em diante, viveremos pelas armas e não pararemos até que aquele
estandarte Bourbon, hasteado no topo de Toulon, seja deitado abaixo e substituído pela bandeira de França!
Napoleão arrancou o chapéu da cabeça e ergueu-o no ar, e, por instantes, não houve qualquer reacção dos homens. Depois o sargento Junot deu um passo em frente e ergueu o chapéu
com um viva, e logo o ar se encheu com os gritos dos homens, que berravam apelos e vivas patrióticos. Napoleão juntou-se-lhes, aclamando o mais alto que pôde. Depois aproximou-se
de Junot e olhou-o nos olhos.
- Quero os oficiais e sargentos no meu comando logo que destrocem da parada. Diga aos restantes graduados que façam os homens desmontarem as tendas e montá-las de novo, como
deve ser. Depois, que ponham o parque da artilharia em ordem. Não há comida, nem pausas, até isto estar feito e feito como deve ser. Entendido?
- Sim, senhor.
- Óptimo. - Napoleão anuiu. - Prossiga, Junot.
Passou pelos homens e foi para a tenda de comando. Lá dentro, duas secretárias de campanha, cobertas de resmas de papelada, estavam colocadas ao fundo. Um grande jarro de
vinho tinto e alguns copos de metal encontravam-se no canto de uma mesa, e Napoleão foi até lá e bebeu um copo de vinho. Parecia que tudo tinha corrido bastante bem. Tinha
dado aos homens algum sentido de orientação e uma percepção do significado do papel que desempenhavam no cerco e, em consequência, algum sentido de responsabilidade. Poderia
ser o suficiente para os motivar. O truque era mantê-los concentrados, e isso implicava oferecer-lhes uma vitória de algum tipo, logo que possível. Algo para compensar o trabalho
árduo a que os obrigara. A sua mente acelerou, por instantes; depois, ele foi até à entrada da tenda, levantou o pano e olhou colina abaixo, na direcção de Toulon. Um número
considerável de vasos de guerra inimigos estava ancorado no braço ocidental do porto de abrigo, no sopé do monte de Brégaillon.
Napoleão sorriu para os seus botões. Muito bem. Seria ali que ele iria começar.
Capítulo 75
Dois dias mais tarde, quando a primeira pálida luz do dia debruava o horizonte, Napoleão espreitou pela mira de um imponente canhão de dez quilos. O barco que escolhera como
alvo era pouco mais do que uma mancha negra no porto, lá em baixo. O Aurore, uma fragata, era um dos navios capturados pelos ingleses, quando Toulon se rendeu à Royal Navy.
O alcance era muito curto, e Napoleão sabia que as hipóteses que tinha de efectivamente acertar na fragata eram poucas, mas isso não era o que mais importava na demonstração
daquela manhã. Napoleão estava a enviar uma mensagem aos inimigos de França de que as suas defesas não eram tão seguras quanto poderiam pensar. Ainda mais importante; estava
a provar aos seus superiores que ele era o tipo de oficial que tomava a iniciativa.
Mesmo quando os seus soldados ainda estavam a ordenar o acampamento e o parque de artilharia, Napoleão tinha enviado os oficiais à procura de ferramentas para cavar trincheiras
e gabiões de verga para a construção da bateria. O capitão Marmont, um jovem tão interessado em provar o seu valor quanto Napoleão, tinha sido enviado à bateria da costa,
em Cap Nègre, para requisitar os canhões de dez quilos de que Napoleão precisava para a sua bateria. Quase só existiam canhões leves no trem de artilharia, que praticamente
não teriam uso no trabalho de cerco.
Marmont descobriu que as armas estavam montadas em carros navais, totalmente contra-indicados para os péssimos caminhos e estradas de regresso a Toulon. Assim, para a viagem,
os canhões tiveram de ser desmontados e carregados em vagões pesados. O trabalho físico duro de carregar e puxar as carroças tinha exaurido os homens e as mulas de Marmont,
mas não tinham podido descansar quando regressaram ao acampamento. Todos os homens disponíveis labutavam para terminar a primeira bateria do capitão Buona Parte. O trabalho
continuou durante a noite, à luz mortiça de brilho alaranjado de pequenas fogueiras e tochas. Napoleão decidiu que quebraria a tradição de atribuir letras a cada bateria.
Em vez disso, dar-lhes-ia nomes, algo com que os homens se pudessem relacionar mais de perto. A primeira teria o nome de Bateria da Montanha.
Mal os baluartes e as canhoneiras ficaram completos, homens a suar e a grunhir arrastaram os grossos troncos da plataforma das armas, colocando-a em posição e enterrando os
troncos bem fundo no chão, no momento em que Marmont chegava aom os canhões. Napoleão correu para eles, com uma tocha bem levantada no ar, para os examinar.
- Por agora servirão, mas temos de os encaixar em carros normais, logo que possamos. - Napoleão deu uma palmada no ombro de Marmont e sorriu. - Muito bem! A Royal Navy vai
ter um senhor cho-
que, quando as primeiras balas de dez quilos começarem a chover-lhe em cima!
- Claro que sim, senhor - respondeu Marmont e depois pareceu pouco à vontade. - O problema é que só encontrámos umas tantas balas e nenhuma pólvora. A bateria de Cap Nègre
estava desactivada há meses, quase sem nada lá dentro.
- Raios! - Napoleão cerrou o punho. - Então terá de ir à procura de munições, logo que raie o Sol. Há uma bateria em Bau Rouge. Tente lá.
- Sim, senhor.
Quando Marmont se voltou para gritar ordens aos seus homens, Napoleão verificou o seu relógio e mordeu o lábio. Na noite anterior tinha enviado um convite a Saliceti, Fréron
e Carteaux para virem observar a Bateria da Montanha a abrir fogo sobre a frota britânica. Mesmo que todas as cinco armas estivessem prontas a tempo, só teriam munição suficiente
para uma mão-cheia de disparos, antes de acabarem. Isso não iria parecer bem. Napoleão compreendeu que a única solução era usar apenas um canhão. Dessa forma poderia fazer
a munição durar e poderia supervisionar pessoalmente a peça a ser carregada e apontada.
Assim, quando a luz do dia ia lentamente ficando mais forte, Napoleão concentrou a sua atenção na preparação do canhão mais à esquerda, seleccionando com cuidado as melhores
balas para os disparos de abertura. Quando a equipagem acabou de carregar o necessário para o primeiro disparo, e Napoleão verificou o ângulo do cano, Marmont veio a correr
ter com ele. Inclinou a cabeça para trás, por cima do ombro.
- Os representantes estão a chegar. Estamos prontos, senhor?
Napoleão anuiu.
- Tão prontos como algum dia estaremos. O general está com eles?
- Não o vi.
Então, Carteaux resolvera ignorá-lo, pensou Napoleão, com um sorriso. Isso não era surpreendente. Ele tinha conseguido fazer mais em dois dias do que o general em várias semanas,
algo que os representantes Fréron e Saliceti certamente iriam apreciar.
Olhando para cima, Napoleão viu as silhuetas esbatidas de dois homens a cavalo a assomarem na cumeeira por detrás da bateria e depois a trotarem na direcção dele. Foi ao encontro
deles, fazendo continência quando puxaram as rédeas. Saliceti olhou em redor para as construções na terra, com um ar inquiridor.
- Andou bem, Buona Parte. Mesmo muito bem. - Deu uma olhadela a Fréron. - Não concorda, cidadão?
Fréron assentiu e, pela primeira vez, sorriu a Napoleão.
- Parece que o avaliei mal, caro jovem.
Napoleão teve de se conter para não pestanejar com o elogio inesperado e limitou-se a fazer uma vénia com a cabeça, num reconhecimento cheio de modéstia.
- Muito obrigado, cidadão Fréron.
- Quanto tempo falta até estar pronto a disparar?
- íamos começar mesmo agora. - Napoleão indicou com a mão uma pequena plataforma, que tinha sido erguida ao lado da bateria. - Se quiserem observar daquela plataforma, terão
uma boa panorâmica sobre os desenvolvimentos.
Enquanto Saliceti e Fréron ocupavam as suas posições, Napoleão atravessou a bateria até junto da arma que tinha seleccionado e fez um gesto com a cabeça ao cabo encarregado
da equipagem.
- Eu disparo o canhão.
- Sim, senhor.
Pegando no bota-fogo, que estava com um dos artilheiros, Napoleão olhou através da canhoneira até à fragata, no porto em baixo. Agora já havia luz suficiente para distinguir
os mastros, as vergas e até o rendilhado dos aprestos. O ar estava quedo, e a superfície do mar imóvel e espelhada. Umas tantas figurinhas moviam-se no convés do Aurore. Nada
poderia parecer tão pacífico quanto aquela fragata e Napoleão fez um sorriso sinistro. Estava na hora de quebrar a paz e recordar à Royal Navy que estavam em guerra. Recuou
da canhoneira e gritou:
- Afastem-se da arma!
A equipagem afastou-se, enquanto Napoleão assumia a sua posição num dos lados do carro do canhão. Respirou fundo e baixou o bota-fogo sobre a ponta do rastilho que se projectava
da abertura do tubo de disparo. A extremidade vermelha a arder entrou em contacto com o rastilho. Logo se ouviu um silvo, um zumbido e depois um rugido estrondoso e profundo,
e um jacto de chama brilhante foi projectado do negro cano da peça. Uma nuvem espessa de fumo acre gordurento ergueu-se imediatamente à volta da arma e atacou as gargantas
do pessoal da equipagem. Passando o bota-fogo ao cabo, Napoleão precipitou-se para a canhoneira e trepou pelo baluarte de terra para tentar visionar onde o tiro caíra.
Apurou a vista, fixou-a na fragata e no mar que a rodeava, sempre consciente de que os representantes observavam atentamente a actuação do novo comandante de artilharia. Após
alguns segundos de tensão, um distante espirro de água levantou-se do mar, um pouco afastado da fragata e descaído para um dos lados. A espuma a expandir-se depressa desapareceu
na leve ondulação à supèrfície da água do porto, e logo todos os sinais indicativos de onde caíra a bala desapareceram.
- Marmont! - chamou Napoleão. - Viu aquilo?
- Sim, senhor.
- A que distância do navio lhe parece?
Marmont fez uma pausa para calcular, antes de responder:
- Duzentos... talvez duzentos e cinquenta metros. E cinquenta à esquerda
Napoleão assentiu.
- Foi o que eu pensei. Muito bem. Carregador!
Um elemento da equipagem avançou.
- Senhor?
- Vamos tentar mais duas medidas de pólvora.
- Sim, senhor.
O carregador fez continência, mas Napoleão notou o olhar ansioso que o homem deitou ao seu cabo.
- Qual é o problema?
O cabo indicou o canhão de dez quilos com a cabeça.
- Já estamos a usar o máximo de pólvora que nos atrevemos, senhor.
- Não se preocupe, cabo - Napoleão fez um sorriso reconfortante e deu uma palmadinha na boca do canhão. - Esta besta é suficientemente forte para cargas muito maiores ainda.
E agora carreguem-no como eu mandei.
- Sim, senhor.
Napoleão ajustou as fracções do ângulo de inclinação e disparou a arma de novo. Outra explosão ensurdecedora e outra nuvem de fumo vomitada. Desta feita, o impacto com a água
foi muito mais próximo e em linha com a fragata. Napoleão sentiu uma onda de orgulho a encher-lhe o peito e virou-se para o cabo, com uma inclinação de cabeça.
- O comando é seu a partir de agora. Mantenha a mesma pontaria e use a mesma carga.
- Sim, senhor.
Napoleão dirigiu-se à plataforma de observação e juntou-se a Saliceti e Fréron.
- Não tarda nada vamos atingi-los.
- Isso é muito bom. - Saliceti sorriu trocista. - Excelente trabalho, Buona Parte. Fique descansado que será mencionado no nosso relatório para Paris, quando Toulon cair.
Fréron fitou-o, de sobrolho erguido.
- É uma boa demonstração, sem dúvida, mas não vamos precipitar-nos. Os canhões de Buona Parte ainda têm de provar o que valem.
Napoleão assentiu.
- É verdade, senhor. Esta bateria só pode incomodar os navios des-
te lado do porto. Isso está tudo muito bem, mas a chave para reconquistar Toulon está ali em cima. - Guiou o olhar dos representantes para um ponto de terra, além da aldeia
de La Seyne. - É LÉguillette. Se o general a conseguir tomar e fortificar, então, os nossos canhões cobrirão a entrada do porto de abrigo. Qualquer navio que tente entrar
ou sair de Toulon terá de passar a barragem da nossa artilharia. Será ainda mais perigoso se usarmos balas aquecidas. Se tomarmos LÉguillette, a Royal Navy terá de abandonar
o porto de abrigo. Depois, será apenas uma questão de tempo até Toulon cair nas nossas mãos.
- Você parece estar cheio de certezas - disse Fréron, franzindo o
nariz.
- Isto parece-me ser a coisa óbvia a fazer, cidadão.
- Bem, se é óbvio para si, deve ser óbvio também para o inimigo. Então, porque não fortificaram eles LÉguillette?
Napoleão encolheu os ombros.
- Não faço ideia. Mas eles fá-lo-ão, logo que se apercebam da sua importância.
- Certamente terá razão, capitão - interveio Saliceti. - O cidadão Fréron e eu abordaremos o assunto com o general, quando visitarmos o comando central. Entretanto, imagino
que tenciona construir mais baterias como esta. Em todo o caso, precisará de mais canhões deste calibre, de mais balas, de mais pólvora. Desse tipo de coisas.
Napoleão assentiu.
- Sim, cidadão. E ficaria muito agradecido se me outorgasse a autoridade para requisitar o que preciso. Poupará tempo, e aliviará a equipa do general do fardo extra dessa
papelada.
- É muita consideração da sua parte.
Saliceti deitou-lhe um olhar cúmplice e depois estremeceu com um novo disparo do canhão. Houve uma pequena pausa, e logo um dos homens da equipagem gritou.
- No alvo! No alvo!
O som de vivas encheu o ar. Napoleão não vira a queda da bala, mas sabia que àquela distância teria sido sorte cega acertar no alvo. À medida que o cano fosse aquecendo e
a equipagem se empenhasse em disparos menos perfeitos, o nível de eficácia do bombardeamento tendia a decair. No entanto, Napoleão estava ciente da necessidade de encorajar
os seus homens para os recompensar pelos dois dias de trabalho brutal que tinham tornado aquele momento possível. Forçou um esgar e virou-se para o cabo encarregado do canhão.
- Acertaram no alvo! Bòm trabalho! Boa pontaria, cabo!
- Obrigado, senhor!
- Então, não fique aí parado, homem! Dê-lhes outra marretada!
O clamor festivo desvaneceu-se, quando a equipagem se inclinou para pegar nas cordas e arrastou o canhão de dez quilos de novo até à canhoneira.
Saliceti deu um toque com o cotovelo a Napoleão.
- Farei com que tenha o que pediu. Imagino que com o número de baterias que pretende, vai precisar de mais homens.
- Sim, senhor.
- Compreendo. Não suponho nem por um instante que lhe tenha passado pela cabeça que a atribuição de mais homens ao seu comando implicará a sua promoção?
Napoleão sobressaltou-se e sentiu o sangue a aquecer.
- Senhor! Protesto! Não procurava promoções. Estava apenas a cumprir o meu dever.
- Com certeza! - Saliceti apaziguou-o. - E, por favor, não peça desculpa por ser ambicioso. A França precisa de homens ambiciosos, como nunca antes. Portanto, precisamos de
si, aqui e agora, major Buona Parte.
Capítulo 76
- Não é uma situação muito promissora, cavalheiros. - O representante Fréron falava com fria restrição, enquanto olhava ao redor da mesa. O general Carteaux e os seus oficiais
seniores estavam sentados, num silêncio desconfortável. Fréron prosseguiu. - Já estamos a meio de Outubro. Longe de ter um fim rápido, este cerco tem-se arrastado por meses,
e tudo indica não estarmos mais perto de acabar com a raça dos sacanas daqueles monárquicos. Quero explicações. Paris exigiu um relatório, que eu e o cidadão Saliceti teremos
de enviar nos próximos dias. Seria no vosso melhor interesse dar-nos a hipótese de ter algo de positivo para oferecer ao comité de segurança pública... que não sejam as vossas
cabeças.
O general Carteaux inclinou-se para a frente e deu um murro na
mesa.
- Cidadão Fréron, não pode esperar que façamos milagres! Precisamos de mais homens, mais mantimentos, e mais tempo para tomar Toulon. Se Paris conhecesse a verdadeira situação
que aqui vivemos, estou certo de que enviaria os reforços de que eu preciso.
Um esboço de sorriso iluminou a cara de Fréron.
- Está a dizer que eu e o cidadão Saliceti não estamos a dizer a verdade acerca da corrente situação aos membros do comité?
As grossas sobrancelhas de Carteaux uniram-se em arco.
- Não. É só porque deve ser difícil para eles terem uma percep-
ção correcta dos acontecimentos, quando estão tão longe do campo de batalha.
- Campo de batalha? - ripostou Fréron. - Que campo de batalha? Tudo o que vejo, todos os dias, é um vasto acampamento de soldados, que correm maior risco de morrerem de velhice
do que do fogo inimigo. À parte de algumas escaramuças, nada conseguiu, general. O inimigo antecipou-se-lhe de todas as vezes. - Fréron espetou um dedo no mapa aberto, em
cima da mesa, à sua frente. - Graças à sua lentidão, o inimigo tomou posse de L'Éguillette e montou um estuporado de um forte gigantesco lá em cima. - Fréron voltou-se para
Saliceti, sentado de braços cruzados a seu lado. - Como é que lhe chamam, que já me esqueci?
- Forte Mulgrave, segundo os nossos espiões. Vinte canhões, quatro morteiros e uma guarnição de mais de quinhentos homens.
Fréron voltou-se para Carteaux.
- Um ponto bem forte, penso que concordará. A questão é: porque não chegámos nós lá primeiro? /
- Estas coisas acontecem - fanfarronou Carteaux. - Não havia razão que fizesse supor que o inimigo pretendesse fortificar L'Éguillette. São as fortunas da guerra.
Saliceti descruzou os braços e debruçou-se na mesa.
- General, eu mencionei-lhe isso alguns dias antes de o inimigo começar a construir o forte. Disse-me que ia tratar do assunto.
- Sim, disse. Quando fosse a altura indicada. Quando tivesse feito as preparações necessárias.
- Que preparações necessárias? - atirou Fréron.
- Como se atreve a pôr-me em causa? - gritou Carteaux. - É um editor de um jornal. Que sabe de coisas militares?
- O suficiente para saber que não está a fazer progredir os interesses da França. Prometeu-me Toulon, e tudo o que me dá são desculpas.
- Quando estiver pronto para atacar, fá-lo-ei. Sem demora. - Carteaux esforçou-se por baixar a voz. - Mas não mandarei os meus homens atacar sem o adequado apoio da artilharia.
Se o major Buona Parte parasse de construir baterias para cobrir o porto e dirigisse os seus esforços para o ataque ao forte Malbousquet, então poderíamos tomar Toulon muito
mais depressa. Porque, no fim de contas - Carteaux forçou um sorriso e fitou os seus oficiais, procurando apoio -, no fim de contas, queremos é tomar Toulon; não o mar.
Uns tantos dos seus adjuntos riram-se ou sorriram. Napoleão fitou Carteaux com os olhos bem abertos, quando o general se virou de novo para os representantes, animado pelo
apoio dos seus oficiais.
- Devolva-me o controlo dos meus canhões, e eu dar-lhe-ei a vitória.
Saliceti abanou a cabeça:
- Não. A chave deste cerco está em conseguir privar a Royal Navy do acesso ao porto. Acredito que a estratégia do major Buona Parte é sólida. Temos de concentrar a artilharia
à roda de LÉguillette. Temos de tomar o forte Mulgrave e, então, controlaremos a entrada do porto. A alternativa, a sua alternativa, é tomar os fortes ao redor de Toulon,
um a um, e depois atacar as muralhas da cidade. Perdoe-me, general, mas parece-me que isso irá custar muitas vidas e demorará muito mais tempo.
- Um soldado tem de tomar decisões difíceis, de tempos a tempos
- disse Carteaux, encolhendo os ombros. - Talvez um político tenha dificuldade em entender isso.
- Com certeza. Mas decisões difíceis não são necessariamente decisões certas, general. Veja aquele assalto ao monte Faron, no início do mês. Quantos homens perdemos no ataque?
E que ganhámos? Nada. E se tivesse tido sucesso? A seguir, o que faria? Os dois fortes seguintes a tomar seriam Malbousquet e La Malgue, que são muito mais poderosos. Quantas
centenas ou milhares dos nossos homens seriam mortos em tais ataques?
- Saliceti abanou a cabeça. - Temos de concentrar os nossos esforços em LÉguillette.
Os olhos de Carteaux fixaram Saliceti por um momento, e Napoleão viu os maxilares do general a mastigarem furiosamente por baixo do grosso bigode. Depois resfolegou irritado,
gesticulando na direcção do seu comandante de artilharia.
- Só Deus sabe o que lhes tem dito nas minhas costas, Buona Parte, mas está enganado.
Napoleão sentiu a espinha a gelar de ansiedade e medo. Não tinha intenção de ser apanhado entre o seu comandante do exército e os representantes do comité de segurança pública.
- Senhor, eu não fui desleal. Nada disse para os predispor contra si. Apenas ofereci uma opinião táctica. É de meu parecer que devemos tomar LÉguillette, e eu mantenho-o.
- O seu parecer... - Carteaux sorriu desconsolado. - Se tem mesmo um plano para tomar Toulon, estou certo de que todos ficaríamos encantados, se o partilhasse connosco.
- Já o fiz, senhor. Enviei-o para o seu comando, no final de Setembro.
Carteaux cerrou os lábios por instantes e depois prosseguiu.
- Pode fazer o favor de me refrescar a memória?
- Com certeza, senhor. - Napoleão fitou Saliceti e Fréron. - Com vossa permissão?
Fréron acenou com a mão, com impaciência.
- Prossiga, Buona Parte.
Erguendo-se da cadeira, Napoleão colocou-se ao lado do mapa e indicou, com um gesto, a larga península que se projectava no porto de Toulon.
- Se conseguirmos estabelecer uma bateria de canhões de dez quilos na ponta de L'Éguillette, ela cobrirá a largura do canal na íntegra. Melhor ainda, um dos meus oficiais
localizou uma colubrina de vinte quilos, que nos deve chegar às mãos no final da semana. Com ela poderemos começar a bombardear os barcos atracados no próprio porto.
- E para que nos servirá isso? - perguntou Carteaux.
- Temos Toulon cercada. A sua única linha de abastecimento é marítima. Neste momento, a visão de uma frota de guerra da Royal Navy no porto é o que dá esperança à população
de Toulon. O inimigo pode trazer as provisões e os homens que lhe apeteça. Se forçarmos a frota a sair do porto de abrigo, então, acredito que o moral vá abaixo. Senhor general,
poderá entrar na cidade sem um único tiro ser disparado. - Napoleão fez uma pausa para deixar o seu comandante visualizar a cena triunfal e depois continuou a explicar o plano.
- Mas primeiro temos de tomar o forte Mulgrave. Peço permissão para construir mais baterias perto do forte.
- Quão perto?
- A um tiro de canhão. Não mais de trezentos metros do baluarte.
Ouviram-se resfôlegos profundos de alguns oficiais à volta da mesa, e
depois sussurros e abanões de cabeça.
- Isso seria suicídio - advertiu Carteaux. - E está a acusar-me, a mim, de desperdício de vidas.
- É um trabalho perigoso - admitiu Napoleão. - Mas é para isso que os soldados são pagos. Se trabalharmos sobretudo à noite, conseguiremos minimizar os riscos.
- É fácil para si pedir a outros homens para arriscarem as vidas deles, major. Não estou certo de que os homens tenham a mesma perspectiva, especialmente devido ao número
de voluntários que temos no exército.
- Nunca pedirei aos meus homens para fazerem algo que eu não faça também - disse Napoleão, neutral. - Trabalharei ao lado deles nas baterias e comandarei eu próprio o bombardeamento
ao forte.
Carteaux sorriu.
- Acreditarei quando vir, major.
- Posso então convidá-lo a si e aos oficiais do comando central para inspeccionarem a primeira das nossas baterias, logo que esteja terminada?
- perguntou Napoleão, com cortesia. - Não deve haver problemas de segurança, senhor.
O general Carteaux abriu-lhe os olhos, com a pele da face a corar, sob o olhar divertido dos representantes. Tinha-se deixado cair direitinho na armadilha e estava furioso.
De imediato, uma expressão calculista se apoderou do seu rosto.
- Obrigado, major Buona Parte. Aceito o seu convite. E imagino que os cidadãos Saliceti e Fréron estejam igualmente interessados em inspeccionar em primeira mão as construções
do seu jovem protegido.
No topo da mesa, os representantes entreolharam-se, surpreendidos e nervosos. Depois, Saliceti pigarreou e acenou com a cabeça para o general.
- Com certeza. Pode ser bom para os homens verem-nos a partilhar o perigo. Iremos consigo ver a nova bateria. - Virou-se para Napoleão. - E o que vai chamar a esta? Já pensou
num nome?
Napoleão magicou por um momento e depois sorriu.
- Sim, senhor. A Bateria dos Homens Sem Medo.
Na semana seguinte, Napoleão e os seus homens trabalharam furiosamente na construção da primeira bateria, de onde os seus canhões tentariam bombardear os baluartes do forte
britânico. Quando se dirigiu aos homens para explicar a tarefa que tinham pela frente, nada fez para tentar disfarçar o perigo da obra. Em vez disso, exagerou e, no fim, fitou-os
com um brilho de excitação nos olhos.
- Esta é uma tarefa para verdadeiros homens. Homens com tomates. Por isso vos peço a vocês para a levarem a cabo; não àquela ralé no cimo do monte, que dá pelo nome de infantaria;
e certamente também não àquelas prima-donas presunçosas da cavalaria. Se queremos um trabalho bem feito, é aos melhores que pedimos que o façam. Posto isto, quem se oferece?
Houve tantos voluntários que Napoleão organizou três turnos dos melhores homens e prometeu aos restantes que haveria vagas, mal o inimigo as arranjasse.
Na primeira noite, Napoleão e Junot (que Napoleão promovera a tenente) rastejaram pelo campo aberto em frente aos baluartes, para marcar a localização da bateria com tacos
de madeira e cordas. Com isso terminado, Napoleão regressou com uma pequena equipa de pioneiros, que rapidamente cavou uma vala e ergueu um tosco parapeito que providenciava
alguma protecção para essa noite de trabalho. Junot permaneceu de guarda lá dentro, com cinquenta homens armados, para evitar qualquer contra-ataque da parte dos britânicos.
Quando o Sol de Outono se elevava num céu cinzento, baço e frio, os homens da artilharia conseguiram ver caras atónitas a olhar para eles a partir das canhoneiras do forte.
Logo em seguida, houve um estampido com fumo, um relâmpago brilhante e depois o monótono
ruído surdo do disparo de um canhão, mesmo antes de a bala roçar a terra em frente ao parapeito de defesa, passando por cima dele com um zumbido grave e caindo numa zona de
rampa relvada mais atrás. O fogo continuou espaçado durante o dia, provocando poucos estragos, porque Junot e os seus homens estavam aninhados atrás do parapeito. Depois,
quando a luz do dia esmorecia, Napoleão trouxe os pioneiros de novo. A vala foi alargada, o parapeito aumentado até se tornar num baluarte, reforçado com gabiões de verga
estreitamente unidos entre si com terra. O inimigo continuou a disparar ocasionais tiros de metralha na escuridão, mas não houve baixas, dado que os homens se deitavam ao
chão quando viam o clarão da chama, que saía do cano da arma, a aparecer na direcção do forte.
Quando os trabalhos na terra terminaram, parelhas de mulas arrastaram as madeiras para a construção da plataforma de artilharia, enquanto os pioneiros dirigiam os seus esforços
para a escavação de uma trincheira de comunicação, em ziguezague, que ligava a bateria às linhas francesas na retaguarda. Com isso, Napoleão e os seus homens poderiam prosseguir
os seus trabalhos em segurança, em plena luz do dia.
Com as defesas acabadas, era tempo para o trabalho longo e ainda mais exaustivo de transportar as peças de artilharia para a frente da bateria. Napoleão seleccionou cinco
morteiros e três canhões de oito quilos para este ataque.
Os morteiros, com as suas trajectórias elevadas, iriam projectar cargas explosivas no interior do forte, provocando tanto dano no moral do inimigo quanto nas suas defesas
e equipamento. Entretanto, os canhões de oito quilos bombardeariam os baluartes até que criassem uma brecha suficientemente larga para arriscar um assalto da infantaria ao
forte Mulgrave.
No final do mês, a bateria estava terminada, e Napoleão enviou uma mensagem ao comando central, informando o general e os representantes de que o comandante de artilharia
tinha o prazer de os convidar a observarem a nova bateria em acção. O tenente Junot sugeriu que esperassem pelos convidados antes de começarem a disparar contra o forte.
- Porquê? - perguntou Napoleão.
- Para dar algum sentido à ocasião, senhor - explicou Junot.
- Sentido de ocasião? - Napoleão riu-se. - Estamos a atacar uma posição inimiga; não a inaugurar o raio de uma feira de aldeia.
- Se deixar o general dar a ordem para abrir fogo, ou, melhor ainda, um dos representantes, isso só poderá melhorar a apreciação que têm de si, senhor.
Napoleão considerou o assunto por instantes e depois abanou a cabeça.
- Não vou dar àquele tonto do Carteaux nenhuma oportunidade para reclamar crédito por isto. Quanto aos representantes, penso que ficarão mais impressionados se avançarmos
com o ataque, do que se esperarmos por eles.
Na aurora de 28 de Outubro, as munições foram trazidas, e a bateria ficou pronta para abrir fogo. Logo que os morteiros e os canhões foram carregados, Napoleão fez descer
o bota-fogo sobre um dos morteiros. Com um estrondo ensurdecedor, o morteiro disparou, e o cano atarracado deu um coice para dentro do carro estático da arma. As equipagens
das armas observaram o traçado negro esbatido da bala a subir por cima do forte e depois a cair para além dos baluartes. Um instante mais tarde, uma grande erupção de terra
e madeiras partidas foi atirada ao ar, e os homens ao redor de Napoleão festejaram ruidosamente, abafando o eco da explosão distante. Napoleão ergueu as mãos para os silenciar.
- De que estão à espera? Do Natal? Mandem-lhes com força!
O bombardeamento começou com uma rodada de detonações atroadoras. O ar por cima do forte rapidamente ficou cheio de fumo e pó, no meio dos quais explosões amarelas e alaranjadas
revelavam onde caíam as balas dos morteiros, disparadas por cima dos baluartes pelos franceses. O impacto dos canhões de oito quilos foi menos dramático, concentrando-se este
ataque em deitar abaixo uma das canhoneiras do inimigo e depois prosseguir para outra. Com a manhã a avançar, e não correndo vento, o fumo das armas agarrou-se à bateria,
cobrindo-a como uma mortalha sufocante. Às tantas, Napoleão trepou para uma elevação de terra entre dois dos canhões de oito quilos e, erguendo o telescópio, pôs-se a observar
a queda das balas dos canhões, ditando notas a Junot, que também trepara monte acima e estava sentado ao lado dele. Depressa foram localizados pelo inimigo, e uns tantos tiros
de um único canhão de baixo calibre foram disparados na direcção deles. Nenhum caiu perto, e os britânicos logo desistiram e pouparam as munições.
Mais tarde, ainda de manhã, um sargento informou Napoleão de que o general se aproximava, juntamente com Saliceti, Fréron e vários oficiais.
- Não deveríamos descer para os receber, senhor? - perguntou Junot.
- Não - respondeu Napoleão, com um sorriso malicioso. - Não me está a parecer. Eles que venham ter connosco.
Poucos minutos depois, o sargento deu ordem para as armas cessarem fogo e as equipagens se porem em sentido, quando o general, os representantes e a comitiva emergiram da
trincheira de comunicação. O general Carteaux tentou espreitar através do fumo de pólvora que se dissipava lentamente e olhou em redor para as pilhas de munições em perfeita
ordem
e para os baluartes solidamente erguidos, que exibiam apenas as estreitas aberturas para os canhões de oito quilos.
- Major Buona Parte!
- Aqui em cima, senhor.
Napoleão acenou com um braço para atrair a atenção do general.
- Que raio está você a fazer, homem? Proteja-se, antes que o inimigo lhe dê um tiro.
- Estamos bem fora do alcance dos mosquetes, senhor. E é impossível observar a situação daí. Na verdade, senhor, estará totalmente em segurança aqui.
O general Carteaux hesitou um pouco e depois dirigiu-se ao baluarte e trepou para se reunir ao seu comandante de artilharia. Os outros convidados seguiram-no, e logo um pequeno
ajuntamento ficou reunido na extremidade da bateria, contemplando o espaço aberto em frente ao forte.
- Prosseguir com o fogo! - gritou Napoleão aos seus artilheiros, antes de se virar para os convidados. - Como podem ver, já estamos a deixar uma impressão nas defesas deles.
Uma canhoneira destruída e outra danificada. Claro que tentarão reparar os estragos, mal anoiteça, mas os nossos morteiros têm alcance e vão tornar-lhes a vida muito difícil.
- Major - Fréron indicou o forte com a cabeça-, tem a certeza de que estamos fora do alcance deles?
- Dos mosquetes sim, cidadão; é óbvio que podem tentar disparar contra nós com um canhão, agora que têm mais vultos como alvo. Mas teriam de ter muita sorte para nos atingir
com o primeiro tiro.
- Algo me diz que não devo achar isso nada reconfortante, major Buona Parte.
Os oficiais do comando de Carteaux riram nervosos com o comentário de Fréron, e depois Napoleão continuou com as explicações. Apontou as principais características das defesas
do inimigo e que destruição a artilharia precisaria de provocar, de forma a tornar um assalto viável. Em seguida, Napoleão indicou a localização das baterias que planeava
construir nas semanas vindouras. Ao concluir a sua apresentação, notou que, enquanto falava, algumas das cargas de morteiro não tinham explodido.
- Junot, uma nota para o capitão Marmont. O inimigo parece ter conseguido extinguir os rastilhos em algumas das nossas balas. Ele tem de fazer com que o tempo de queima dos
rastilhos seja reduzido, digamos, em três segundos. E que...
Foi abruptamente interrompido por uma chuva de terra, que caiu sobre o grupo de oficiais. Alguns deitaram-se ao chão e cobriram as cabeças, e outros recuaram num pulo para
dentro da bateria. O general Carteaux manteve-se imóvel, mas com uma expressão de choque estampada no ros-
to. Ao lado dele, os dois representantes puseram-se de cócoras, com os ombros encolhidos.
- Que diacho foi isto? - murmurou Saliceti, com a cara coberta de pedaços de terra.
Napoleão virou-se e visualizou o local onde a bala de canhão tinha acertado no baluarte, uns poucos metros adiante do grupo de oficiais. Apontou para o sulco.
- Ali, cidadão. Parece que o inimigo resolveu tentar acertar-nos, afinal. Junot? Você está bem?
Napoleão aparentou que se virava casualmente para o seu tenente, enfiando a mão no lado do colete para disfarçar o tremor dos dedos. Junot limpava cuidadosamente o seu livro
de anotações dos salpicos finos de terra solta. Levantou os olhos para Napoleão e falou com calma exagerada.
- Estou bem, senhor. Pelo menos não precisarei de areia para secar a minha tinta.
Napoleão deu uma gargalhada e voltou-se para os seus superiores. Saliceti e Fréron já estavam a descer para a segurança oferecida pela bateria, e o general Carteaux fitava
o inimigo com ansiedade, com as mãos cerradas em punhos.
- Um disparo de sorte, senhor- comentou Napoleão, neutral.
O general olhou para o seu comandante de artilharia e anuiu.
- Bem, parece que sim. Obrigada pela demonstração. Bom trabalho, major. Agora, tenho de regressar aos meus deveres.
Trocaram continências breves, e depois Carteaux caminhou até à berma do baluarte, com toda a dignidade que conseguiu arranjar, e saltou para dentro da bateria, para junto
dos outros convidados. Saliceti espreitou por cima do parapeito.
- Buona Parte, se houver alguma coisa de que precise, diga-me.
- Obrigado, cidadão. É o que farei.
- E faça o favor de não se deixar matar, caro jovem.
Napoleão sorriu e virou-se para trás, para o inimigo, no momento em que se viu um estampido de fumo numa canhoneira do forte. Desta feita, a bala passou por cima e ao lado,
e tanto ele quanto Junot se contraíram com o profundo zumbido do seu voo.
- Foi um disparo para medir a distância - disse Napoleão, em voz baixa. - O próximo cairá mais perto.
- Sim, senhor - respondeu Junot, pondo-se de pé e enfiando o livro de anotações na sua mochila.
Ficaram imóveis por instantes, antes de Napoleão arriscar olhar de soslaio sobre o ombro. A cauda da coluna do grupo de oficiais desaparecia na trincheira de comunicações.
O monótono ruído surdo chamou a sua
atenção e ele virou-se, mesmo a tempo de ver a erupção de terra no chão, a curta distância das suas botas.
- Acho que chegou a altura de nos abrigarmos.
- Sim, senhor.
- Vamos, então.
Napoleão virou-se e saltou para dentro da bateria, silenciosamente satisfeito com a exibição que proporcionara a Carteaux, e, mais importante ainda, a Fréron e Saliceti. Quando
recuperassem do choque, eles iriam recordar certamente a sua coragem imperturbável face ao fogo inimigo. Era disto que as reputações eram feitas. Napoleão olhou para Junot
e imitou-o.
- Pelo menos não precisarei de areia para secar a minha tinta. Tenente, você deve ter tomates de ferro!
Junot fez um sorriso malandro, e Napoleão deu-lhe um murro leve no ombro.
- Ainda bem. Vai precisar deles.
Capítulo 77
Com o início de Novembro, o tempo mudou. Caía chuva fria, e os homens ficavam encharcados enquanto trabalhavam em mais duas das baterias em frente ao forte Mulgrave. O chão
de terra passou a ser de lama, e o trabalho diminuiu de velocidade, com os homens a passarem a vau a esterqueira escorregadia e pastosa para cavarem valas de escoamento, tentando
depois erguer as muralhas das baterias já parcialmente completas. Por fim, no décimo quinto dia do mês, a chuva parou, e o céu limpou, e Napoleão deu ordens para que novas
munições fossem trazidas do depósito de Ollioules. Mas, quando o primeiro barril foi aberto, logo foi notório que a pólvora estava húmida, totalmente estragada, por ter ficado
à chuva durante a semana anterior. Napoleão recolheu uma mão-cheia da pólvora estragada para inspeccionar. Esfregou-a entre os dedos e praguejou, ao sentir como estava peganhenta
Levantando os olhos para Junot, murmurou:
- Quando descobrir qual dos sacanas incompetentes do Carteaux é responsável por isto, juro que o mato.
Junot manteve-se silencioso, não desejando piorar o mau humor do comandante. Napoleão ficou a olhar fixamente para a pólvora na sua mão, por alguns minutos, e depois atirou
com ela repentinamente para dentro do barril e deu-lhe um pontapé, atirando-o ao chão. Enquanto limpava o resíduo das mãos no casaco, tentou controlar-se e acalmar-se.
- Mande buscar mais. Verifique se está em condições, antes de a trazerem para junto das armas.
- Sim, senhor. Ordens para os homens?
- Ordens?
Junot indicou com a cabeça os barris de pólvora inutilizados.
- Não podemos prosseguir com o bombardeamento até que isto seja substituído, senhor.
- Não - respondeu Napoleão agastado. - Diga aos homens para aguardarem até novas ordens.
- Aguardarem. Sim, senhor.
- Vou regressar ao acampamento. Mande-me avisar logo que chegue o novo carregamento de pólvora.
- Sim, senhor.
De volta à sua tenda, Napoleão sentou-se na mesa dos mapas, a examinar os planos para a distribuição de mais baterias. Tinham passado menos de dois meses desde que fora colocado
no comando da artilharia, e já tinha construído nove baterias a oeste de Toulon e tinha outras quatro planeadas. A sua força original de trezentos homens tinha aumentado para
quase mil e quinhentos, e mesmo assim ainda eram poucos para o serviço de que necessitavam as mais de mil peças de artilharia empregues no cerco de Toulon. Como resultado,
Saliceti recomendou a sua promoção para graduado em tenente-coronel, e Napoleão aguardava a confirmação oficial antes de colocar os galões na sua casaca. Tinha sido uma ascensão
meteórica, de que se orgulhava, mas o exército não se encontrava mais perto de tomar o porto. A lentidão do processo de destruição das defesas do forte Mulgrave moía-lhe a
paciência. Tal como a recusa do general Carteaux em fazer do forte a sua prioridade. Mesmo agora, apenas dois batalhões de infantaria estavam entrincheirados na zona dos canhões
de Napoleão. Estavam lá apenas para proteger as baterias, não para comandarem um assalto ao forte, quando chegasse a hora.
Tendo impingido o seu plano aos representantes em cada oportunidade que teve, recentemente enviara uma carta confidencial ao Ministério da Guerra em Paris, a queixar-se em
termos amargos da incompetência do general Carteaux e a defender a necessidade urgente de o seu plano ser adoptado, se Toulon era para cair antes do fim do ano. A carta fora
enviada num momento de precipitação, e agora Napoleão temia ter passado das marcas. Carteaux tinha patronos poderosos entre os jacobinos e não perdoaria certamente tal descortesia,
se a descobrisse.
Inclinou-se sobre a mesa, passou as mãos pelo cabelo e apercebeu-se, então, de um alarido no exterior da tenda. Os homens gritavam uns com os outros, e ouviu-se o som do disparo
de um mosquete à distância. Com um suspiro, Napoleão ergueu-se da cadeira, aborrecido, e veio para o exterior. Os homens tinham aproveitado bem a mudança no estado
do tempo e tinham pendurado em cordas, de tenda em tenda, os seus uniformes encharcados e sacos de cama para que secassem. Pequenas nuvens de vapor fino elevavam-se do acampamento,
que Napoleão ia atravessando até conseguir olhar para baixo, para a encosta em frente do forte Mulgrave. Mesmo para lá da trincheira exterior, viu um pequeno grupo de homens,
alguns em uniformes franceses e outros em uniformes escarlates. Napoleão olhou em redor e distinguiu o capitão Marmont a observar o incidente através de um telescópio. Apressando
o passo na direcção dele, Napoleão gritou.
- Que raio se passa aqui?
Marmont virou-se e fez continência ao seu coronel.
- Parece que alguns homens das nossas patrulhas se entusiasmaram e se aproximaram demasiado do forte. Os britânicos fizeram uma surtida para os capturar. E agora estão a dar-lhes
um belo enxerto.
- Deixe-me ver.
Napoleão pegou no telescópio que lhe era estendido e dirigiu-o para o forte. No círculo de aumentar do óculo viu claramente os soldados franceses de joelhos a serem pontapeados
e atingidos com as coronhas dos mosquetes pelos seus captores.
- Mas, o que é aquilo?
- Posso adivinhar. As patrulhas estão tão perto que podem trocar insultos com os britânicos. Uma coisa leva à outra, e dá neste resultado. Mas as coisas não estão favoráveis
aos nossos homens. Veja.
Marmont apontou para as trincheiras à frente do forte. Os soldados trepavam com mosquetes na mão, a fazerem gestos de raiva ao inimigo. Os gritos de fúria ecoavam na encosta,
e os dois oficiais viram que mais e mais soldados emergiam do abrigo e começavam a atravessar o campo aberto em direcção ao forte. Napoleão virou o telescópio para os britânicos.
Pôde ver como paravam a tareia e olhavam para os franceses que se dirigiam para eles. Depois, um sargento casaca-vermelha desceu a baioneta sobre o peito de um dos prisioneiros.
- Filho da mãe! - Napoleão encheu o peito de ar com sofreguidão e depois viu horrorizado como o sargento gesticulava para os seus homens e como eles começaram a fazer o mesmo
ao resto dos prisioneiros. - Os filhos da mãe estão a assassinar os nossos homens!
Um grande grito de coragem elevou-se dos soldados franceses em volta da cena, e, de súbito, uma onda de uniformes azuis carregou contra a posição do inimigo.
- Oh, merda! - Marmont deu com o punho cerrado na sua coxa.
- Os idiotas! Que pensam que estão a fazer? Temos de os parar.
- Não. - A mente de Napoleão galopava. Sentia a excitação dada
pela oportunidade a circular-lhe nas veias. - Não. É agora. Esta é a nossa oportunidade. Venha!
Agarrou no braço do capitão e puxou-o atrás de si, enquanto corria impetuoso pela encosta abaixo. Ao passarem pelos grupos de tendas, Napoleão gritou aos homens para pegarem
nas armas e o seguirem.
Lá adiante, a primeira onda de soldados franceses tinha chegado à trincheira exterior e vertia-se sobre os obstáculos, magoando-se ao empurrá-los com fúria para os lados,
enquanto perseguia os casacas-vermelhas que tinham assassinado os seus amigos. Com o coração acelerado, Napoleão correu o mais depressa que as pernas lhe permitiam. Se ao
menos o número suficiente de homens carregasse enquanto o sangue da luta estava quente. Se um oficial superior pudesse chegar lá depressa, a tempo de se aproveitar da situação,
então, tudo era possível. Chegou à Bateria dos Homens Sem Medo e parou no baluarte, gritando para os artilheiros que ainda lá estavam.
- Peguem nas armas e sigam-me!
Depois continuou, carregando em frente, pelo meio dos soldados que fluíam para o forte. Ao longo do baluarte, disparos de mosquetes surgiam no meio de silhuetas de homens
embrenhados em luta corpo a corpo desesperada. Napoleão chegou à trincheira, desceu quase a gatinhar pela encosta abaixo, por pouco falhando as pontas afiadas de uma paliçada
de madeira pontiaguda, que se erguia na lama ao fundo. Alguns dos homens estavam já feridos e desciam do baluarte, enquanto Napoleão tentava trepar, tanto com as mãos quanto
com os joelhos. Ao longo do outro lado do baluarte, os franceses lutavam para entrar no forte. As caras desesperadas dos casacas-vermelhas eram visíveis acima do parapeito,
onde esticavam as baionetas ou moviam os mosquetes como se fossem paus. Ambos os lados lutavam como animais selvagens. Após trepar até onde os homens lutavam desesperadamente,
Napoleão desembainhou a espada e ergueu-a o mais alto que pôde.
- Em frente! - gritou. - Em frente! Sigam-me!
Atirando-se por entre dois dos seus homens, agarrou-se ao topo de um gabião e elevou-se até à canhoneira. O forte estava ali à sua frente, e no pouco tempo que teve para olhar
em volta, viu que aquele baluarte estava pouco defendido, mas que mais homens estavam a formar no lado mais distante do forte, perto das casernas do inimigo. Não tardaria
muito que reforçassem aquele lado do forte.
- Coronel! - gritou Marmont, perto dele. - A sua esquerda!
Napoleão apercebeu-se da sombra escarlate, quando rodopiou mesmo a tempo de cruzar a espada para aparar o golpe da baioneta. A ponta da baioneta desviou-se e espetou-se na
parede de verga da canhoneira. Na-
poleão enfiou o punho da sua espada na cara do soldado britânico, e o homem caiu com um grunhido, deixando cair o mosquete. Napoleão não lhe prestou mais atenção e saltou
para dentro do forte, acenando frenético aos homens atrás dele para o seguirem. Nas duas extremidades, havia pequenos grupos de franceses dentro do baluarte, perseguindo o
inimigo que corria à frente deles. Apenas uns poucos soldados britânicos com corações corajosos enfrentavam o inimigo, ferozmente comprometidos em defender o forte e a honra.
Mais além, os seus camaradas formavam uma linha de fogo, pronta a contra-atacar os franceses e a correr com eles do forte. Napoleão virou-se, à procura de Marmont, e viu-o
a alguns passos a tentar trepar no baluarte.
- Capitão! Vá levar uma mensagem ao general. Diga-lhe que tomámos a muralha. Diga-lhe para mandar mais homens, e o forte é nosso. Vá!
Marmont assentiu, deu meia volta e desapareceu de vista. Napoleão olhou frenético em redor, avaliando a situação. Havia bastantes franceses no baluarte, uma massa de soldados
sem líder e desorganizados e que já mostrava sinais de confusão e de medo, à medida que a fúria inicial ia passando. Muitos eram artilheiros, armados com pouco mais do que
paus e facas. Os que tinham mosquetes, haviam-nosdescarregado contra o inimigo no assalto inicial. Napoleão percebeu que tinha de formar os homens de imediato, de impor alguma
ordem e de restaurar a disciplina, antes que se desconjuntassem quando as bem organizadas fileiras de casacas-vermelhas marchassem contra eles.
Perto dele, um sargento voluntário tinha dado uma paulada num casaca-vermelha, que estava agora no chão, e revistava os bolsos do homem. Napoleão agarrou-lhe no braço e rudemente
empurrou o homem para longe da sua pilhagem.
- Ponha os homens em ordem! Forme uma linha. Os que tiverem mosquetes à frente.
O homem fitou-o como se não o visse, e Napoleão abanou-o.
- Faça os homens formar! Percebeu?
O sargento despertou do seu devaneio, anuiu e virou-se para berrar as ordens para os homens que se movimentavam ao longo do baluarte. Napoleão foi para o lado oposto, encontrou
mais alguns sargentos e o tenente Junot e deu as suas ordens. Devagar, muito devagar, a turba de soldados foi sendo empurrada e persuadida a formar uma linha tosca, mesmo
por debaixo do baluarte, e os homens que iam entrando no forte eram logo arrebanhados e colocados ao lado dos camaradas. Napoleão ordenou a todos os que tivessem mosquetes
e munições para carregarem as armas e aguardarem a ordem de fogo. O ar encheu-se com o som das varetas a carregarem os cartuchos de pólvora e as balas de mosquete. Napoleão
sabia
que se conseguissem aguentar a muralha na sua posse até que Carteaux providenciasse unidades organizadas e bem armadas para a batalha, então, o forte Mulgrave seria capturado.
Da outra ponta do forte, soou o rufar do tambor, que ecoou por todo o interior. Napoleão viu a linha britânica a avançar como uma onda, em compasso de marcha, aproximando-se
dos franceses, com os mosquetes ainda presos aos ombros. Não pôde deixar de ter um sorriso de admiração face à frieza do inimigo. Depois, o sorriso desvaneceu-se, ao aperceber-se
do perigo iminente que ele e os seus homens corriam. Respirou fundo e gritou a ordem.
- Avançar mosquetes!
Os da linha da frente avançaram as armas um pouco inclinadas para o inimigo.
- Erguer mosquetes!
A linha formada à pressa ergueu os mosquetes, com as coronhas firmemente encostadas aos ombros e os polegares direitos colocados em cima dos martelos de disparo.
- Engatilhar armas!
À medida que os roquetes iam sendo engatilhados ao longo da linha, os nervos de um homem cederam, e ele disparou a arma de imediato.
- Não disparem, raios os partam! - Napoleão dirigiu o grito à nuvem de fumo, que denunciava a posição do homem. - Não disparem até minha ordem!
Mesmo em frente, a linha britânica parou, a pouco mais de cinquenta passos de distância. Tão próxima, que Napoleão conseguia distinguir as feições dos soldados e o rosto do
oficial, que tinha encontrado uma elevação no meio daquela confusão e que agora pairava por cima dos homens. O oficial britânico berrou a ordem, e os casacas-vermelhas tiraram
os mosquetes dos ombros e avançaram-nos na direcção do inimigo, formando uma cerca móvel de aço mortífero. Napoleão ergueu a espada.
- Preparar para disparar!... Fogo!
A rajada francesa provocou um estrondo de explosões esfarrapadas, que instantaneamente cobriram o ar em frente com um véu temporário de fumo amarelo descorado. Os homens nas
fileiras da retaguarda festejaram, mas, mal o fumo se dissipou, os vivas logo se calaram nas suas gargantas. Só uma mão-cheia de inimigos caíra, e agora era a vez de eles
dispararem. O oficial de casaca-vermelha deu as suas ordens, com total precisão: os mosquetes foram erguidos, os martelos de disparo foram puxados para trás e depois uma curtíssima
pausa e um terrível silêncio cobriu o forte, apenas quebrado pelos gemidos e gritos sem força dos feridos.
O oficial casaca-vermelha gritou uma ordem, que foi instantanea-
mente engolida pelo ruído de uma rajada maciça, com chamas a projectarem-se dos canos das armas britânicas, logo obscurecidas por um espesso banco de fumo. A rajada varreu
a linha francesa como uma tempestade de granizo, e o ar em redor de Napoleão encheu-se com o silvo agudo do voo e com o estampido das balas dos mosquetes, que passavam por
ele ou atingiam os seus homens. A cabeça de um homem em frente a Napoleão foi atirada para trás e dissolveu-se numa polpa desordenada de miolos e sangue, que lhe salpicou
a cara e o peito como se fosse chuva quente. Depois, ouviram-se os gritos e respirações aflitas das vítimas; ao limpar a cara, viu numerosos homens caídos e os restantes a
contemplarem a carnificina em redor, completamente horrorizados.
- Responder ao fogo! - gritou, e aqueles que ainda possuíam discernimento para agir retiraram os cartuchos das bolsas e começaram a recarregar. Da linha dos casacas-vermelhas
vinha o som das varetas a serem enfiadas pelos canos dos mosquetes abaixo. Enquanto eles preparavam outra rajada mortífera, os mais rápidos recarregadores franceses dispararam
de novo, uns estouros desiguais e oscilantes, com o ocasional silvo do tiro falhado. Depois, a segunda rajada do inimigo foi disparada, e mais franceses se vergaram e tombaram
no chão. Uma mão-cheia de homens na retaguarda agachou-se e escapou-se sorrateiramente até aos baluartes. Logo que os viu, Napoleão carregou sobre o homem mais próximo.
- Voltem para a linha! Para a linha, já!
O homem fitou o jovem oficial como se ele fosse um louco, abanou a cabeça e gatinhou desesperadamente através da canhoneira, empurrando para o lado o braço que Napoleão lhe
atravessara no caminho. Napoleão ficou a ver o homem, de olhos esbugalhados, com o coração a afundar-se e, pela primeira vez, sentindo a mão gelada da morte a tocar-lhe. Que
ele pudesse morrer ali, naquele baluarte cheio de lama e de cadáveres, quando tinha ainda tanto para conseguir na vida, apavorava-o. Se ao menos os reforços chegassem. Onde
diabo andava Carteaux? Então, para além do baluarte e por cima das trincheiras francesas, viu uma coluna de homens a marchar, atravessando o espaço aberto, na direcção do
forte. Ainda levariam algum tempo a chegar aos baluartes. Tempo de mais. Napoleão engoliu em seco, muito nervoso, consciente de que agora só lhe restava uma hipótese. Correu
para a dianteira, empurrando os homens nas fileiras e gritando-lhes:
- Carteaux vem aí! Temos de carregar! Carreguem agora, antes que eles disparem de novo!
Olharam para ele, atónitos.
- Porque esperam? - gritou. - Para serem abatidos como cães? A carga! É a esperança que vos resta!
O tenente Junot repetiu o grito de ataque, e alguns dos sargentos e cabos e os homens mais corajosos juntaram-se ao coro. A linha francesa avançou numa onda de fúria, com
os homens a gritarem, no frenesim da batalha, enquanto corriam para as fileiras silenciosas dos casacas-vermelhas. No meio deles, Napoleão também gritava, sentindo os pulmões
em esforço, ao acompanhar os homens que o rodeavam. Estavam quase em cima dos britânicos, quando a terceira rajada foi disparada e lhes estourou nas caras, e muitos mais franceses
foram abatidos no banco de fumo em movimento que enchia o ar. Os sobreviventes foram direitos às baionetas do inimigo, e Napoleão encontrou-se face a face com as cãs de um
veterano desdentado, que se lançou sobre a figura frágil do oficial francês. Napoleão agachou-se, quando lhe tentou espetar a baioneta na cabeça. Quando olhou de novo, o casaca-vermelha
tombava para trás, com um machado de um pioneiro enterrado no pescoço. Uma figura alta, vestida de azul, passou por Napoleão; puxou pelo cabo do machado e recuperou-o, procurando,
em seguida, outro oponente.
No interior do banco de fumo, os homens atacavam-se com machadadas, facadas e pancadas, com fúria própria de feras. Napoleão recuou um pouco e olhou para o baluarte, incitando
os que lá se encontravam a avançar. Enquanto os casacas-vermelhas fossem forçados a lutar corpo a corpo, não poderiam disparar mais nenhuma daquelas rajadas terríveis.
- Avancem! - Elevou a voz acima do bulício. - Carteaux está a chegar!
Nesse instante, ouviu o chamamento familiar das trombetas, e o seu coração disparou, mas logo teve a certeza de que algo estava errado. Algo com que ele nunca contaria. Apurou
os ouvidos, e o som repetiu-se, ressoando pela escaramuça adentro, com claridade inconfundível.
- Retirada! - gritou uma voz perto dele. - Estão a tocar a retirada!
- Não! - gritou Napoleão, com o coração apertado num nó de fúria extrema. - Não!
- Retirada! Recuem! Recuem!
Já era demasiado tarde para os parar. Silhuetas de homens passaram por ele, no meio do fumo, a correr em direcção ao baluarte. Estavam todos a fugir, e Junot estava agora
ao lado dele e agarrava-lhe na manga.
- Senhor, venha!
- Não!
- Nada mais pode fazer. Venha!
Junot puxou-o e arrastou-o na direcção do baluarte. No início, Napoleão comportou-se como se fosse um boneco de pau, pois cada instinto lhe
indicava que se devia virar e enfrentar o inimigo, embora as pernas seguissem o caminho dos outros. Chegados à canhoneira, Junot empurrou-o para que a atravessasse, de tal
forma que se desequilibrou e quase escorregou pela encosta abaixo até à trincheira. Ao redor dele, a chapinhar na lama, os homens corriam para salvar as vidas. Depois, passou
os obstáculos, trepou a outra encosta ao fundo e correu pelo campo aberto, em direcção do abrigo da bateria. Respirava com dificuldade e fez uma pausa para recuperar o fôlego,
enchendo o peito de ar várias vezes; então, olhou para trás, para o forte. O baluarte estava de novo na posse dos casacas-vermelhas, que estavam agora ocupados a recarregar
e a disparar as suas armas rapidamente sobre os franceses em fuga. Napoleão sentiu-se enojado por dentro com a oportunidade perdida. As notas estridentes do toque de retirada
pareciam estar a gozar com ele, enquanto endireitava a casaca e se obrigava a marchar de volta às suas próprias linhas.
Quando chegou à bateria, afastou Junot para o lado e continuou a marchar pela colina acima, atravessando o campo de artilharia e seguindo até ao comando do general, nos arredores
de Ollioules. Quando se aproximava, um dos oficiais do comando levantou-se e bloqueou-lhe a entrada na tenda.
- Deixe-me passar! - sibilou Napoleão, respirando pesadamente.
- Quero ver o cabrão que ordenou aquela retirada!
- Não pode entrar, senhor - replicou o oficial, olhando ansioso por cima do ombro. - O general está ocupado.
- Ocupado? - Napoleão abriu-lhe os olhos e abanou a cabeça, estupefacto com o insulto. - Aposto que está mesmo ocupado. É melhor que esteja a escrever o testamento.
Por detrás do oficial, o pano da tenda foi afastado, e Saliceti meteu a cabeça de fora.
- Que se passa? Buona Parte? - Saliceti franziu o sobrolho, ao dar pelos salpicos de sangue na cara de Napoleão. - Meu Deus! Você está bem, homem?
- Sim, cidadão - respondeu Napoleão, de dentes cerrados e apontando enfadado para o forte. - Mais do que posso dizer daquelas centenas de homens além... Quero ver o general.
Quero ver o cobarde que ordenou a retirada. O cobarde que nos roubou a hipótese de tomarmos o forte. Quero ver o general.
- Não pode ver o general - replicou Saliceti. - Aqui não está general nenhum.
- Que quer dizer com isso? - perguntou Napoleão, dando um passo em frente e espreitando pela abertura da tenda. Lá dentro, pôde ver Car-teaux, recostado na cadeira, de cabeça
caída. Napoleão sentiu um ataque de
furia renovada e fez menção de começar a andar, mas Saliceti pôs-lhe uma mão no peito e travou-o:
- Como lhe disse, aqui não há nenhum general - repetiu Saliceti.
- Acabei de destituir Carteaux do seu posto de comandante do exército. Falhou-nos vezes de mais. E agora o cidadão Carteaux encontra-se sob prisão.
Capítulo 78
O major-general Dugommier lançou um olhar duro aos seus oficiais reunidos.
- Não haverá mais erros, cavalheiros. Vamos reconquistar Toulon, antes do fim do ano. Quero tornar isso muito claro. Não vou tolerar incompetência nem cobardia.
Fez uma pausa, para permitir que as palavras assentassem com firmeza nas mentes dos ouvintes, e depois levantou-se e encaminhou-se para o mapa pendurado na parede da estalagem
que escolhera para sede do seu comando.
No início, Napoleão não tinha ficado particularmente inspirado com a escolha de Dugommier como novo comandante do exército que cercava Toulon. Dugommier era de uma família
nobre, tinha cinquenta e muitos anos, cabelo grisalho e as rugas do rosto muito marcadas; estava a chegar a uma idade onde seria mais bem empregue num trabalho administrativo
do que como oficial no terreno. Porém, o novo general depressa provara ser um profissional da velha escola e tinha inspeccionado em pessoa cada unidade sob o seu comando e
rectificado bastantes problemas de abastecimento e equipamento, que o seu antecessor simplesmente ignorara. Não obstante o seu sangue nobre, parecia gozar da confiança completa
dos representantes do comité de segurança pública, e, poucos dias após a sua chegada, já tinha revigorado o espírito dos oficiais e dos homens. Mesmo Napoleão, ressentido
de início, reconheceu as superiores qualidades do homem. Ainda mais quando Dugommier adoptou o plano de ataque que fora elaborado por ele.
Dugommier bateu com um dos seus dedos grossos no mapa.
- Tudo roda em torno de L' Éguillette, como os mais aptos tacticamente já começaram a perceber. Obviamente, o inimigo também o sabe; daí, as poderosas defesas que construiu
no forte Mulgrave. Desde a semana passada que tenho encorajado os nossos oponentes a acreditarem que estamos a mudar o foco dos nossos ataques para o monte Faron. Daí, a intensificação
de patrulhas, ataques experimentais e bombardeamentos limitados nessa área. Parece que a minha acção deu resultado, dado que
os nossos espiões nos informam que o inimigo deslocou dois batalhões e doze peças de LÉguillette para o outro lado do porto, durante as duas últimas noites. - Dugommier fez
uma pausa e voltou-se para os seus oficiais seniores, com um ligeiro sorriso. - O tempo para atacar está quase a chegar, cavalheiros.
À roda da longa mesa, os oficiais trocaram entre si olhares de excitação. A hora deles estava a chegar. Depois de todos os falhanços da desorganização do general Carteaux,
eles ainda estavam algo cépticos quanto a qualquer plano de ataque e aguardaram que o novo comandante explicasse um pouco mais. Em vez disso, Dugommier regressou à mesa, sentou-se
e depois acenou com a cabeça na direcção de Napoleão.
- Coronel Buona Parte, quer ter a bondade de nos explicar o plano?
- Sim, senhor.
Napoleão tinha uma pilha de anotações dentro da pasta de cabedal, pousada na mesa à sua frente, mas lera tantas vezes o plano que havia memorizado todos os pormenores importantes;
assim, deixou a pasta onde se encontrava, levantou-se do banco e colocou-se ao lado do mapa. A maior parte dos outros oficiais testemunhou, com surpresa mal disfarçada, como
Dugommier cedera o centro do palco a este comandante de artilharia acabado de promover. Napoleão pigarreou e ensaiou mentalmente a sequência do plano. i
- Com o objectivo de desestabilizar o inimigo, prosseguiremos com ataques de pequena escala ao longo das suas linhas de defesa, durante a próxima semana. - Arqueou uma mão
e moveu-a por cima da zona do porto. - A nossa artilharia apoiará esses ataques, bombardeando os principais redutos e fortes. O objectivo é manter o inimigo na dúvida quanto
às nossas intenções, de modo a que disperse as suas forças por todas as linhas de defesa. Iremos lançar assaltos simultâneos ao longo da frente, na noite do ataque. Está marcado
para as primeiras horas do dia 18 de Dezembro. O general Lapoye irá coordenar as operações a leste de Toulon. O maior impacto atacante terá incidência aqui, contra o forte
Mulgrave. Na noite anterior, reuniremos doze batalhões de infantaria na aldeia de La Seyne. Haverá quatro colunas envolvidas. A primeira será comandada pelo coronel Victor,
a segunda pelo coronel Delaborde, e a terceira pelo coronel Brule. A quarta será a reserva, sob o meu comando, que permanecerá em La Seyne até ser precisa.
- Se for precisa... - O general Dugommier interveio com muita calma.
- Sim, senhor. Se for precisa. - Napoleão sentiu a cara a corar um pouco e depressa se virou para o mapa. - As baterias dos Homens Sem
Medo, dos Jacobinos e dos Caçadores Felizes providenciarão fogo de cobertura, e esperamos que também desviem as atenções da aproximação das colunas de infantaria. Logo que
o forte esteja tomado, o coronel Victor avançará e tomará o forte de LÉguillette, o coronel Delaborde tomará o forte Balaguier, e o coronel Brule limpará qualquer resquício
de forças inimigas que reste no forte Mulgrave. Logo que os fortes estejam controlados, levaremos as armas do cerco para a frente do forte de LÉguillette e varreremos o porto
de abrigo. Impedido o acesso ao mar, é apenas uma questão de tempo até que Toulon caia. - Voltou as costas ao mapa. - Alguma pergunta?
- Sim - assentiu o coronel Victor. - Um ataque nocturno? Com três colunas a avançarem próximas umas das outras? Parece-me uma receita para a confusão.
- As rotas estarão marcadas na noite do ataque - respondeu Napoleão. - O meu subordinado, o tenente Junot, liderará um pequeno esquadrão que colocará estacas e cordão a indicar
o caminho.
- Continua a parecer-me arriscado - matutou o coronel Victor.
- Garanto-lhe que vai funcionar - respondeu Napoleão, impaciente. - A surpresa será total. Agora, há mais perguntas?
- Não - disse com firmeza o general Dugommier. - Não haverá mais perguntas. O plano é sólido, e vamos cumpri-lo até ao mais ínfimo pormenor. Todos os oficiais receberão ordens
precisas do meu comando. Cavalheiros, estão dispensados.
Capítulo 79
A chuva começou a cair ao crepúsculo e continuou pela noite fora, enquanto os homens saíam das suas tendas e formavam nas suas companhias e batalhões, antes de marcharem até
à aldeia piscatória de La Seyne. Um vento frio soprava do mar, fustigando-lhes as caras com a chuva, e, muito antes de chegarem à aldeia, todos os homens estavam encharcados
até aos ossos e tremiam de frio. Sendo pequeno e magro, Napoleão sentia o desconforto com maior intensidade do que os homens que caminhavam penosamente a seu lado. Saíra do
comando central, após ter apresentado o relatório final acerca dos preparativos para o ataque, mesmo depois de ter começado a chover. O caminho tinha-se transformado num lamaçal
que lhe sugava as botas, e nos locais onde o chão tinha mais pedras, a superfície tornara-se escorregadia; por isso, tinha de se concentrar em cada passo que dava.
Napoleão não tinha previsto um tempo tão mau quando traçara os planos para Dugommier e agora, ao apertar o sobretudo em redor dos om-
bros, tentou considerar o possível impacto que uma chuva tão gelada poderia ter no ataque. Enquanto a lama não os atrasasse muito, o ataque poderia ser bem sucedido. Aliás,
a chuva ajudaria a esconder a aproximação, e o barulho que produziriam seria abafado pelos assobios e batidas da chuva no meio dos gemidos das rajadas do vento.
Quando chegou a La Seyne, Napoleão dirigiu-se à casa do mercador que tinha sido escolhida para sede do comando da operação daquela noite. Victor, Delaborde e Brule já se encontravam
à espera, quando Napoleão transpôs a ombreira da porta, salpicado com lama e a escorrer água. Fechou a porta atrás de si e apressou-se na direcção do brilho do fogo que estalava
na lareira.
- Podia ter escolhido uma noite melhor para isto, Buona Parte - sorriu Victor. - Se esta chuva continua, então, para sermos honestos, é melhor deixarmos a tarefa para a marinha.
- Que marinha? - resmungou Brule. - Uns sacanas sem proveito, que entregaram os navios sem luta nenhuma, quando Toulon caiu em poder dos britânicos.
Victor abanou a cabeça com tristeza.
- Coronel Brule, eu estava a brincar.
- A brincar? - Brule fitou-o com desconfiança. Era um jacobino de "antes quebrar que torcer" tão disposto a matar pela sua causa como a morrer por ela, o que em parte explicava
a sua promoção ao posto actual.
- A tropa é um assunto sério, coronel. Aqui não há lugar para anedotas.
- Deveras? - Victor retorquiu com um olhar de esguelha. - Nesse caso, você deve ser certamente a excepção à regra.
Enquanto Brule franzia o sobrolho, Victor virou-se de novo para o recém-chegado. .
- Está tudo a postos no comando central?
- Tão a postos quanto alguma vez poderá vir a estar - respondeu Napoleão, esforçando-se para que os dentes deixassem de bater. - O general e os seus ajudantes virão juntar-se
a nós. Depois, só temos de esperar que Lapoye dê o sinal. Ele disparará um foguete de luz vermelha, logo que os seus homens estabeleçam contacto com o inimigo. Nós responderemos
com um foguete de luz verde.
- E se não o virmos? - perguntou o coronel Delaborde. - Com este tempo, é possível que não; em especial se houver nevoeiro mais tarde.
- Bem observado - assentiu Napoleão. - Nesse caso, se não houver sinal até à meia-noite, poderemos esperar uma hora até que façamos as colunas deixarem a aldeia e marcharem
para o forte.
- Se é essa a decisão do general... - replicou Delaborde. - Pode ser o seu plano, Buona Parte; mas ainda é o exército dele.
Napoleão olhou em volta e fitou o homem mais velho como se não o visse.
- Com certeza. A decisão é do general.
O coronel Victor bateu palmas.
- Vamos lá, cavalheiros! Nada de caras amuadas. Nada de desentendimentos. Vamos tomar uma bebida e jogar às cartas, enquanto esperamos.
- Cartas? - Brule torceu o nariz.
- Sim. Pode ser whist? Ou, no caso de a perspectiva de acompanhar a sorte de cinquenta e duas cartas ser demasiado intimidativa para si, podemos jogar ao vinte e um.
- Ah! - A expressão acabrunhada de Brule iluminou-se. - Vinte e um. Ora, aí está um jogo de que eu gosto.
O coronel Victor sorriu.
- Como é que eu alguma vez poderei dizer que fiquei surpreendido, meu caro coronel? Vamos a isso, então. Buona Parte, junte-se a nós.
Napoleão abanou a cabeça.
- Hoje não. Há muita coisa em jogo, e eu não consigo deixar de pensar nisso.
- Está tudo controlado. O plano é bom; para além de que nada mais pode fazer em relação a isso agora. As cartas vão fazê-lo pensar noutra coisa. A mim, ajudam-me a acalmar
os nervos.
Napoleão anuiu.
- Muito bem. Vou jogar.
Sentaram-se numa pequena mesa, e, enquanto Victor baralhava e dava as cartas, Napoleão concluiu que Victor tinha razão. Quando uma operação começa, os homens envolvidos devem
deixar de pensar no que aconteceu antes; tudo o que interessa é levar a cabo as tarefas específicas de cada um, com a cabeça desanuviada. Assim, ele concentrou-se na maneira
como os outros oficiais jogavam às cartas e notou que cada um tinha um estilo diferente, que muito dizia dos respectivos caracteres. Delaborde era cuidadoso, Brule impulsivo
e óbvio, e Victor exibia um ar de indiferença que denunciava uma cabeça extremamente calculista. Após a primeira meia hora, Victor sugeriu que jogassem a dinheiro, em apostas
pequenas, apenas para manterem a concentração. Na hora que se seguiu, continuou a extorquir o conteúdo das bolsas dos outros coronéis e tê-las-ia esvaziado, se o general Dugommier
não tivesse intervindo.
Os coronéis pousaram as cartas e levantaram-se. O general acenou um cumprimento com a cabeça e entrou porta dentro, gesticulando.
- Que noite nojenta! As marcas das rotas estão metidas num atoleiro. Vai ser um osso duro de roer. - Dugommier foi até junto da la-
reira para aquecer as mãos, tal como Napoleão havia feito. - Que horas são?
Victor pegou no relógio de bolso.
- Vinte minutos para a meia-noite, senhor.
- Então é melhor juntarem-se às vossas unidades, senhores. Fiquem atentos ao foguete, e avancem mal o vejam.
Napoleão e os outros pegaram nos casacos e chapéus ainda encharcados e deixaram o edifício. No exterior, a chuva caía ainda com mais força, golpeando as telhas e assobiando
na rua enlameada. Para qualquer lado que olhasse, Napoleão via que os homens se amontoavam debaixo dos beirais ou nas ombreiras das portas.
O coronel Victor agarrou na mão de Napoleão.
- Vemo-nos no forte.
- Sim. Até mais logo, então.
Os oficiais dispersaram-se. Napoleão caminhou penosamente pelas ruas até ao mercado de peixe, onde os batalhões de reserva o esperavam. Encontrou o tenente Junot e os outros
oficiais a aquecerem-se por cima das brasas de um fogo de ferreiro.
- Junot!
- Sim, senhor.
- Você tem melhores olhos do que eu. Vá à igreja. Trepe à torre e fique de vigia ao sinal do Lapoye. Diga-me, no instante em que vir alguma coisa.
- Sim, senhor.
Junot fez continência e desapareceu a correr pela rua empedrada abaixo, abotoando a casaca enquanto corria. Napoleão ocupou o lugar dele junto ao lume, puxou um banco e sentou-se
à espera. Passou a meia-noite, depois mais meia hora, e depois era uma da manhã. E não havia sinal do foguete de Lapoye, nem informações de Junot. Depois, à uma e meia, um
oficial do comando irrompeu no mercado de peixe. Pôs a mão em cone à frente da boca e gritou.
- Coronel Buona Parte!
- Estou aqui!
Napoleão ergueu-se do banco e avançou ao encontro do oficial do comando.
- Que se passa?
- Cumprimentos do general Dugommier, senhor. Ele quer ver os oficiais seniores imediatamente.
Napoleão assentiu, e quando o oficial do comando saía a correr ao encontro do homem seguinte na lista, Napoleão deixou a casa apressado e atravessou as ruas. Quando chegou
ao comando, encontrou Brule e Dela-
borde em animada discussão com o general. Dugommier fez sinal com a mão ao recém-chegado para que se aproximasse da mesa.
- Alguma detecção do sinal na sua posição, Buona Parte?
- Não, senhor.
- Está a ver? - Delaborde abanou a cabeça. - Nada do sinal. Algo deve ter corrido mal.
Dugommier passou a mão pelo queixo.
- Talvez. Também é igualmente possível que o temporal tenha atrasado Lapoye, e os seus homens ainda estejam a tomar posições.
- Nós não sabemos isso, senhor - insistiu Delaborde. - Mas mesmo que fosse verdade, esta chuva tornou o chão intransitável. Pior ainda, tornou impossível o uso de armas de
fogo. Os nossos homens terão uma desvantagem terrível.
- Não - interrompeu Napoleão. - Não há desvantagem nenhuma. As mesmas condições aplicam-se ao inimigo. Pelo menos, os nossos canhões poderão disparar. A pólvora está protegida,
e os rastilhos arderão mesmo à chuva. Ainda podemos prosseguir com o ataque.
Delaborde abanou a cabeça e virou-se para o general.
- Senhor, temos de abortar o ataque. Temos de esperar até que o tempo melhore. Caso contrário, isto pode vir a ser um desastre.
Napoleão sentiu uma onda de frustração perante a ansiedade do homem. Quando afastava o seu Cabelo a escorrer água para os lados da testa, a porta abriu-se, e o coronel Victor
juntou-se ao grupo.
- Ah! - Dugommier sorriu. - Agora que estamos todos aqui, temos de tomar uma decisão. Não há sinal de Lapoye. Delaborde e Brule aconselham-me a abortar o ataque e que esperemos
por melhor tempo.
- Isso tornar-nos-á a vida mais fácil, senhor - assentiu Victor. - Mas não é razão para o cancelar. Pelo menos, por enquanto. - Sentou-se ao lado de Napoleão. - E o que pensa
o coronel Buona Parte? Afinal, o plano é dele.
O general fitou Napoleão e ergueu uma sobrancelha.
- Então?
- Eu digo para avançarmos agora, senhor, para não esperarmos pelo sinal. Os homens estão fartos de estar à espera. Se os deixarmos assim muito mais tempo, não será nada bom
para o moral das tropas. Não sabemos a duração do mau tempo. Podem ser horas, dias, semanas. Quem sabe? Aliás
- Napoleão fitou o general, com uma expressão plena de astúcia -, não me parece que Saliceti e Fréron, e muito menos o comité de segurança pública, encarem qualquer atraso
de modo favorável.
- Civis! - Brule cuspiu. - Que diabo saberão eles de assuntos militares?
Napoleão encolheu os ombros.
- Não saberão muito, talvez; mas conhecem os sentimentos das multidões de Paris e as mentes dos homens da convenção. A França precisa de uma vitória. Se cancelarmos o ataque,
não será precisa muita imaginação para divisarmos como reagirão os nossos patrões políticos em Paris.
- Ummhh... - O general franziu o sobrolho. - Já levou em consideração que poderão ficar bem mais desagradados se o ataque falhar e perdermos muitos homens?
- Sim, senhor. Mas isso pode acontecer em qualquer ocasião. Não vejo como é que esperar até que o tempo melhore possa favorecer as nossas hipóteses.
- Pois não; é verdade. - O general Dugommier reflectiu e depois deixou cair uma mão aberta sobre a mesa. - Muito bem. Esperamos mais uma hora. Mas, se não houver sinal algum
de Lapoye até às três da manhã, cancelarei o ataque.
Delaborde sorriu e assentiu. Napoleão sentiu-se traído. Se era assim que a França fazia a guerra, então o conflito com as outras nações da Europa estava irremediavelmente
perdido.
- De volta às vossas unidades, senhores. Não havendo sinal, mandarei avisar para que ordenem aos vossos homens o regresso aos acampamentos.
Enquanto caminhava na direcção do mercado de peixe, o sobrolho de Napoleão foi-se franzindo. A campanha para recuperar Toulon tinha sido persistentemente estremecida pelos
seus comandantes, por tempo suficiente. Se Paris estava determinada a usar como exemplo aqueles que considerava responsáveis pela não persecução do cerco com o vigor necessário,
então era possível que os subordinados imediatos de Dugommier fossem arrastados na rede. Napoleão praguejou para os seus botões. Se ao menos fosse ele a comandar! Ordenaria
o ataque de imediato: chovesse, nevasse ou geasse. Parou no meio da rua, com um súbito pensamento a apoderar-se da sua mente. Era muito simples. O ataque avançaria. Ele fá-lo-ia
avançar. Apressou-se de novo. Passou ao pé do mercado de peixe e tomou a direcção da igreja. Chegou à entrada da torre e gritou para que Junot descesse e se juntasse a ele.
Depois de olhar em redor, certificando-se de que não poderiam ser ouvidos, Napoleão falou em voz baixa com o seu camarada.
- Junot, o general tem intenção de cancelar o ataque.
- Porquê? Qual o motivo, senhor?
- A chuva. Ele pensa que os nossos homens se vão atolar; o que significa que talvez não vejamos o sinal de Lapoye.
- E se Lapoye já o disparou e espera o nosso sinal de reconhecimento?
- Sim - matutou Napoleão. - Pode ser que sim. Nesse caso, a chuva será a desgraça de todos nós.
Junot deu um murro na coxa:
- Maldito tempo! Se ao menos limpasse durante um bocado.
- Vamos assumir que não limpa. Algo tem de ser feito, Junot. Alguém tem de fazer as coisas acontecerem.
Junot fitou-o com cautela.
- Que está a sugerir, senhor?
- Quero que dispare um foguete de luz verde.
- O quê?
- O foguete verde. Se Lapoye o vir, o ataque avançará como previsto. Se não o vir, pelo menos, o nosso ataque ao forte Mulgrave avançará.
- E se falharmos, senhor?
Napoleão encolheu os ombros.
- Façamos tudo para não falharmos. Ora bem, Junot, alinha nisto comigo?
O tenente Junot pensou por um momento e depois anuiu.
- O senhor ainda não me desiludiu. E eu não o desiludirei.
- Óptimo. - Napoleão sorriu e apertou a mão do outro homem.
- Isso é óptimo. Se isto nos correr mal, tem a minha palavra de que tudo farei para que não sofra as consequências.
- Não é preciso fazer isso, senhor.
- Muito obrigado, Junot. Não percamos mais tempo. Dispare o foguete.
Junot fez continência e saiu a correr da igreja. Napoleão deu-lhe algum avanço e depois apareceu no mercado e caminhou pesada mas casualmente de regresso ao ferreiro. Sentou-se
no mesmo lugar de antes, em frente ao fogo, e esperou, com o coração acelerado pela antecipação e excitação provocadas pelo risco terrível que tinha assumido. Os minutos passaram,
e a chuva continuou a cair. Depois, Napoleão ouviu um grito no exterior da loja do ferreiro.
- Que é aquilo?
Um dos oficiais à roda do fogo esticou o pescoço para olhar para
fora.
Um sargento apareceu a correr. Parou e fez continência.
- Coronel Buona Parte, senhor!
Napoleão deu meia volta.
- Sim?
- É o sinal, senhor. O foguete de luz verde.
Ainda não terminara a mensagem, e já se ouvia o ribombar abafado, como de um trovão, das baterias em frente ao forte Mulgrave a abrirem
fogo, obedientes às ordens recebidas. A qualquer momento, a guarda avançada das colunas de assalto do general Dugommier sairia de La Seyne e atravessaria o terreno batido
pela chuva, em direcção ao inimigo. Nada poderia travar o ataque agora, pensou Napoleão. Empenhara nele as vidas de milhares de homens. O seu destino estava nas mãos deles.
Capítulo 80
À parte dos distantes fragores das armas, nenhum som de batalha chegava aos homens da coluna de reserva, que permaneciam no mercado de peixe e tremiam à chuva cortante. Napoleão
estava consumido pela necessidade de ter algumas notícias, quaisquer notícias, de como o ataque estava a progredir. Caminhava para a frente e para trás, num dos cantos do
mercado, com as mãos apertadas uma na outra com força, cruzadas atrás das costas, e a cabeça espetada para a
frente, enquanto a mente analisava todas as variáveis que podiam afectar o ataque ao forte Mulgrave. Junot e os outros oficiais deitavam uma olhadela ocasional ao jovem comandante
de temperamento mercuriano, mas nem tentaram falar com ele e murmuravam apenas uns com os outros com a ligeireza que homens preocupados com pensamentos de combate e morte
estão inclinados a escolher.
Depois, uma hora após o disparo do foguete, chegou um mensageiro da parte do general Dugommier. Um jovem tenente, salpicado de lama, entrou no mercado a correr, olhou em volta
e viu os oficiais abrigados na loja do ferreiro. Napoleão tinha-o visto chegar e marchou na sua direcção.
- Que novas há?
- Cumprimentos do general, senhor. - O mensageiro estava ofegante. - Ele precisa que a reserva avance... e que apoie o ataque.
- Que aconteceu?
- Duas das colunas perderam-se. Os homens de Victor e de Brule marcharam direitos uns aos outros.
- Como aconteceu isso? - perguntou Napoleão, de dentes cerrados, furioso que o seu plano estivesse a ser arruinado. - Nós marcámos as rotas de forma bem nítida.
- Foi a chuva, senhor. Arrastou algumas das estacas. As marcações já não estão lá.
- Merda! - Napoleão respirou fundo para se acalmar. - E agora?
- Não sei bem ao certo, senhor - respondeu o mensageiro desconsolado. - Há uma confusão terrível. A maior parte dos homens não consegue descobrir as respectivas unidades ou
os seus oficiais. Depois, encontrámos um dos postos avançados do inimigo.Tentámos por três vezes
tomá-lo e fomos repelidos. O general precisa da reserva. São a única força organizada que resta.
- Onde está Delaborde?
- Não sei, senhor. Ele seguiu para a esquerda, quando perdemos a rota, e ninguém sabe onde está a coluna dele.
Napoleão abanou a cabeça. Isto era um desastre. A menos que se fizesse algo depressa, a batalha já estava perdida. Concentrou a atenção no mensageiro.
- Diga ao general que vamos a caminho. Diga-lhe para limpar as linhas de aproximação ao posto avançado e que vamos entrar a atacar. Diga-lhe... diga-lhe que respeitosamente
sugiro que ordene ao que resta das outras duas colunas para nos seguir. Fixou tudo?
O mensageiro anuiu.
- Vá!
Napoleão virou-se para os oficiais.
- Vocês todos ouviram. Compete-nos a nós assegurar que o ataque seja levado a cabo. Marcharemos em formação cerrada. Coloquem os graduados em oficial nos flancos da coluna
para manterem os homens na formação. Não haverá pausa para formações quando chegarmos ao posto avançado. Marcharemos direitos ao inimigo e deixaremos as outras colunas limpá-los.
Tudo compreendido? Então, vamos a isso, senhores!
Calcaram as ruas escuras de La Seyne e depois atravessaram o charco de lama do campo. O lodo que lhes sugava as botas atrasava-lhes o passo, e os homens lutavam para manterem
os pés em formação cerrada. Depressa encontraram os primeiros grupos dispersos de homens feridos e de outros que fingiam estar feridos, que regressavam a La Seyne. Os canhões
das baterias de Napoleão estavam silenciosos, depois de terem bombardeado o forte Mulgrave durante a hora que Napoleão tinha calculado que as colunas de assalto demorariam
a colocar-se nas posições de ataque. O plano já estava muito atrasado, porque o ataque tinha emperrado nas primeiras linhas de defesa do inimigo. Napoleão marchava à testa
da coluna, com uma companhia de granadeiros que tinha ordens para varrer quem quer que encontrasse no caminho da coluna de reserva. Quando se aproximavam do posto avançado,
Napoleão mal conseguia distinguir os homens agrupados que o ladeavam. Fez um cone com a mão e pô-lo à frente da boca.
- Juntem-se à cauda da coluna!
As suas botas foram ao encontro de algo sólido, e com um sobressalto apercebeu-se que tinha pisado um corpo. Forçou-se a continuar o passo de marcha, ignorando-o, e momentos
depois chegavam à trincheira que rodeava o posto avançado. Retirou a espada da bainha e ergueu-a bem alto acima da cabeça.
- Granadeiros! Em frente!
A companhia assomou à trincheira e de seguida começou a trepar pela encosta do outro lado. Adiante, por detrás dos parapeitos de protecção, as silhuetas indistintas das barretinas
dos inimigos eram visíveis. Mas, desta vez, não havia rajadas de fnosquete bem treinadas para destruir as fileiras francesas. A chuva torrencial já o tinha feito. Por isso,
os dois lados lutavam corpo a corpo, com baionetas, espadas e ferramentas de trincheira. Ao contrário dos atacantes anteriores, os homens de Napoleão chegaram numa onda sólida,
liderados pelos hirsutos granadeiros.
- Deitem abaixo os gabiões! - Napoleão gritou do topo da encosta.
- Deitem-nos abaixo!
Um sargento entroncado entregou o mosquete a um dos seus soldados, agarrou no bordo da verga, colocou as pernas em posição de equilíbrio e puxou com toda a força. A forte
chuvada tinha amolecido a terra em roda do gabião, e este soltou-se lentamente. Com um grunhido, o sargento atirou-o para o lado e deixou-o escorregar para dentro da trincheira.
Arrancou o seguinte, o que deixou uma brecha no parapeito de defesa com largura que chegasse para a passagem de dois homens. No outro lado, o inimigo aproximava-se para defender
a abertura, quando o sargento agarrou de novo no mosquete e, soltando um berro de touro, carregou pela brecha adentro.
- Avancem! - Napoleão fez sinal com a espada. - Atrás dele!
Os granadeiros avançaram aos tombos e precipitaram-se sobre os
defensores. Napoleão foi arrebatado por eles e logo se encontrou dentro do posto avançado. Ao seu redor, negras silhuetas de homens grunhiam e praguejavam, enquanto espetavam
e cortavam quem pensavam ser o inimigo. Napoleão olhou à volta, viu os contornos de uma barretina britânica e deu um golpe com a espada. Ouviu um som seco, que cortou o chapéu
e foi direito ao crânio do homem. Caiu com um grito, e Napoleão passou por cima do corpo em direcção ao interior do posto avançado. Atrás dele, alguns granadeiros estavam
ocupados a arrancar mais gabiões para alargar a brecha, enquanto o resto da coluna penetrava no posto e aumentava a maré de homens que afogava os defensores.
- Estão a fugir! - gritou uma voz. E era verdade que muitas sombras fugiam na direcção do baluarte distante, arrastando-se através do parapeito de defesa e depois desaparecendo
de vista. Os homens de Napoleão começaram a dar vivas. Ele ergueu a espada e gritou-lhes para que se calassem. Não havia tempo para celebrações. Aqueles homens iriam avisar
os defensores do forte Mulgrave da aproximação da coluna. Ele tinha de lhes dar o mínimo de tempo possível para se prepararem.
- Granadeiros! Formar fileiras! Tenente Junot! Onde está o tenente Junot?
- Aqui, senhor! - Uma figura conseguiu passagem por entre os homens que se amontoavam no interior do posto avançado.
- Junot, vá ter com o resto da coluna. Conduza-a à roda do posto, e dirija-se para o forte. Mande dizer ao general que tomámos este posto. Diga-lhe que me dirijo directamente
para o forte. Pode juntar-se a mim lá.
Napoleão sorriu por instantes. Ali estava ele, a dizer a um oficial superior, com idade suficiente para ser seu pai, o que devia fazer. Não obstante, tinha confiança suficiente
em Dugommier para contar que o general percebesse a razão de tal procedimento.
- Muito bem, senhor - Junot assentiu. - Tenha cuidado consigo, senhor - acrescentou.
Napoleão apercebeu-se da preocupação genuína no tom de voz do homem e ficou surpreendido ao entender que tinha inspirado alguma devoção no seu subordinado. Institivamente,
pegou na mão do tenente e deu-lhe um aperto vivaz.
- Você também, Junot. Vemo-nos no forte.
Em seguida, deu meia volta e bruscamente deu ordem para avançar. Comandou os granadeiros através do posto avançado até à entrada tosca, que dava para uma estreita passagem
por cima da trincheira. Ali, à frente deles, pairava o forte Mulgrave em toda a sua extensão; porém, pouco visível era através do manto de chuva diluviana. Napoleão acelerou
o passo até este se tornar num trotar ritmado; atrás dele, o equipamento dos granadeiros tinia e chocalhava, enquanto o acompanhavam. Esperava que o resto da coluna o seguisse,
dado que a companhia de granadeiros sozinha não tinha hipóteses nenhumas. Das suas observações anteriores do terreno, Napoleão recordou-se de que havia umas elevações a norte
do forte. Poderiam ocultar a aproximação deles e dar-lhes alguma possibilidade de, pelo menos, surpreenderem o inimigo.
Virou à esquerda e conduziu os homens por um vale pouco profundo, onde o forte desapareceu de vista. Uma figura surgiu no meio da escuridão.
- Quem vem lá? - berrou Napoleão, agarrando a espada com mais
força.
- Capitão Muiron. E você quem é?
Muiron estava ligado aos ajudantes do general, e Napoleão baixou a espada.
- Coronel Buona Parte.
- Graças a Deus, senhor. - Muiron aproximou-se. - O general está lá em cima com uns escaramuceiros.
- Que está ele a fazer com os escaramuceiros? - Napoleão ficou atónito. Era evidente que Dugommier era um general que comandava da frente. - Ele devia estar no comando central.
Muiron riu-se.
- Pode dizer-lhe isso quando o vir. Ele descobriu um ponto nos baluartes onde há poucos canhões. É aí que ele quer que a coluna de reserva penetre. - Muiron olhou para além
de Napoleão e viu a companhia de granadeiros parada atrás dele. - Onde está o resto da sua coluna, senhor?
- Vem de La Seyne. Deve estar a passar ao lado do posto avançado.
- Napoleão apontou na direcção que pensava ser a certa, e Muiron assentiu.
- Muito bem, senhor. Vou à procura deles. Precisam de ser guiados até ao general.
- E nós?
- Siga este vale, senhor. Contorna o forte e leva-o directamente ao baluarte a norte, mas verá o general muito antes de ver o forte.
- Espero que sim.
- Boa sorte, senhor.
Muiron fez continência e desapareceu a correr, à procura do resto da coluna. Napoleão acenou com o braço.
- Em frente!
O general Dugommier correu na direcção de Napoleão, no momento em que viu a companhia de granadeiros.
- Buona Parte, que bom vê-lo! Onde está o resto dos seus homens?
Enquanto Napoleão lhe explicava rapidamente a situação, Dugommier tirou o chapéu da cabeça e passou uma mão pelo cabelo encharcado. Olhou para trás, para o baluarte, e praguejou
em voz baixa, antes de se virar de novo para Napoleão.
- Não há um momento a perder, coronel. Temos de atacar agora e rezar para que o resto dos reforços da sua coluna chegue a tempo.
Napoleão anuiu.
- Tem razão, senhor.
- Vamos, então. Espalhe os seus homens. Não faz sentido transformarmo-nos em alvos fáceis.
- Sim, senhor.
Napoleão mandou formar os granadeiros em fileiras abertas, e juntamente com os escaramuceiros do general, formaram uma linha fina que marchou a passo ritmado em direcção ao
baluarte. Os homens mantinham-se em silêncio, olhando fixamente em frente, à procura de algum sinal de terem sido detectados, mas os baluartes pareciam silenciosos e abandonados.
Ao avançar ao lado de Dugommier, Napoleão instintivamente enco-
lheu o pescoço, como se isso o tornasse menos fácil de ver e mais difícil de atingir. Era absurdo, ele bem o sabia, mas era superior às suas forças. Já se encontravam ao alcance
dos mosquetes do forte, quando dois brilhantes golpes de lume iluminaram o baluarte, banhando os homens que se aproximavam num breve fulgor alaranjado berrante, antes de o
som do canhão explodir sobre eles. Por instantes, a linha oscilou, mas os disparos tinham passado por cima, sem causar danos; foi então que o general berrou a plenos pulmões
a ordem de carga.
Napoleão começou a correr, ladeado de granadeiros que se precipitavam para o forte. Chegaram à trincheira e detectaram de imediato os ameaçadores pontos negros de obstáculos
aguçados no fundo da vala. Mas o inimigo tinha-os distribuído de forma muito espaçada, e os atacantes passaram por eles sem demoras e começaram a trepar a encosta do outro
lado.
Os artilheiros ingleses não tiveram tempo de recarregar as armas, e quando as negras silhuetas se ergueram na escuridão na direcção deles, abandonaram o baluarte, em pânico,
deixando um destacamento de fuzileiros a enfrentar os franceses sozinho. Napoleão chegou ao pé de uma das canhoneiras e agachou-se para que os defensores não o pudessem ver.
Mantendo a espada na mão, lá conseguiu trepar até à canhoneira, escorregou pelo chão enlameado e espreitou lá para dentro. Poucos soldados inimigos permaneciam perto da arma.
Os outros estavam dispersos pela bateria, posicionados para se defenderem do ataque. Napoleão virou-se e sussurrou para os granadeiros mais próximos.
- Ali por cima! Vão!
Alguns homens treparam pela canhoneira adentro e agacharam-se entre os canhões, enquanto os seus camaradas mais à frente, no baluarte, mantinham os fuzileiros ocupados. Logo
que teve homens em número suficiente, Napoleão escorregou até junto deles.
- Quando eu disser, carregamos na linha de defesa do baluarte e atiramos com o flanco deles abaixo. Temos de os amedrontar, fazendo o máximo de barulho possível. Todos prontos?
Óptimo... - Napoleão encheu o peito de ar, apertou o punho da espada com mais força e depois ergueu-se.
- À carga!
Com um rugido de sangue a ferver, os granadeiros surgiram do meio dos canhões e correram pelo interior do baluarte com as baionetas em baixo. Os fuzileiros voltaram-se para
a origem do barulho, instantaneamente distraídos da luta com os invasores fora do baluarte. Napoleão espetou a espada no inimigo mais próximo, sentiu que a lâmina se esquivava,
mas ainda roçou nele; continuou pelo baluarte fora, e um dos granadeiros que o seguia agarrou no fuzileiro pela garganta e enterrou a baioneta no crânio
do homem, deixando-o logo cair. Continuaram a carregar, abatendo mais dois homens, antes de o inimigo perder a vontade de lutar e começar a fugir do baluarte.
- Deixem-nos ir! - ordenou Napoleão. Seria perigoso perder o controlo da sua pequena força, enquanto se encontrassem numa posição inimiga e em vasta inferioridade numérica.
- Deixem-nos, já disse!
Os granadeiros pararam, deixando a disciplina tomar conta do seu desejo de perseguir um inimigo derrotado. Napoleão inclinou-se sobre o baluarte.
- General! Tomámos a muralha.
- Bom trabalho! - respondeu uma voz na escuridão. - Vou ter consigo.
Logo que o resto dos homens tinha penetrado no forte, Napoleão procurou o general.
- Senhor, temos de preparar as defesas. Mal o comandante do forte se aperceba que estamos dentro do baluarte, contra-atacará.
- Claro que sim. - Dugommier olhou em redor. A bateria tinha sido construída numa pequena parcela de terra e estava unida ao resto do forte por uma estreita passagem entre
as muralhas. - É ali que os vamos deter até que Muiron apareça. Forme os homens em frente à passagem.
Napoleão anuiu.
- Sim, senhor.
Juntou os granadeiros e os escaramuceiros e colocou-os na posição indicada, onde formaram uma linha de dois homens e aguardaram na chuva abundante que os britânicos reagissem.
Entretanto, o general enviou uma mensagem a Muiron para o informar de que o baluarte fora tomado, e para que trouxesse mais homens o mais depressa possível.
- Senhor! - gritou um dos granadeiros a Napoleão. - Eles vêm
aí!
Uma coluna densa e escura de infantaria atravessava o espaço aberto no coração do forte. Ao aproximarem-se da pequena força de Napoleão, este clareou a voz.
- Lembrem-se, rapazes, temos de aguentar até que o resto da coluna chegue. Se conseguirmos isso, então, os filhos da mãe perdem, e o forte será nosso.
Virou-se para enfrentar o inimigo. E eles lá se aproximaram, numa marcha ritmada, até ficarem ao alcance das pistolas. Depois o comandante parou a coluna e ordenou formação
em linha. Houve um compasso de espera, enquanto ambos os lados se entreolhavam, e depois a ordem para carregar foi ululada, e os britânicos precipitaram-se em frente, bramando
o seu grito de batalha.
Napoleão cerrou os dentes e encolheu-se um pouco, de espada em guarda na direcção do inimigo. A ladeá-lo, os granadeiros preparavam-se para o impacto, com a chuva a pingar
das pontas das baionetas. Então, uma onda sombria de homens embateu contra a linha francesa. Por um momento, os granadeiros desequilibraram-se com o choque, mas logo responderam
ao ataque, lutando selvaticamente, rasgando, espetando com as pontas das baionetas e golpeando o inimigo com as coronhas pesadas dos mosquetes. Não havia elegância nas suas
acções, apenas uma tentativa frenética de matar e sobreviver. Napoleão avançou para um espaço entre dois granadeiros, de espada em riste. Uma figura sombria saltou na direcção
dele, segurando um longo pique; Napoleão distinguiu três simples divisas em V no braço do homem, antes de golpear a haste metálica e a empurrar para baixo e para longe do
seu peito. O sargento grunhiu e fez nova investida, desta feita incluindo todo o seu peso na carga. Napoleão esquivou-se da lâmina de novo, mas no mesmo instante o corpo do
sargento caiu sobre ele, fazendo-o rodopiar e cair estatelado no chão. Caiu de cara na lama e quase perdeu a espada. Atirando-se para o lado com o impulso do braço livre,
Napoleão ouviu a ponta metálica a enterrar-se na lama, no sítio exacto onde o seu corpo tinha estado nos segundos anteriores. Desferiu um golpe com a espada à altura do joelho,
e a lâmina ceifou as articulações do homem, cortando os tendões e estilhaçando o osso. O sargento caiu com um grito de dor. Napoleão deslizou para trás, rastejando por cima
de corpos e observando as silhuetas que lutavam ao seu redor. Logo que se sentiu seguro, pôs-se de pé e olhou em volta, tentando perceber como estava a luta a decorrer.
Os britânicos já os tinham empurrado para trás da passagem estreita, e mais homens deles inundavam os flancos. Com uma sensação doentia, Napoleão percebeu que não os podiam
aguentar ali. A única hipótese que restava era o baluarte.
- Recuem! - gritou. - Recuem para o baluarte!
Os granadeiros foram lentamente cedendo terreno, continuando a lutar pela sobrevivência. Logo que ouviu a ordem, o general Dugommier desceu atabalhoado do baluarte, empunhou
a espada e correu para o lado de Napoleão, justamente quando o grupo de franceses ficou rodeado pelo inimigo. Agora teriam de lutar para conseguirem chegar ao baluarte.
- Algum sinal de Muiron? - perguntou Napoleão.
- Não.
- Merda...
- É o que parece. - Napoleão viu os dentes do general a brilhar num rápido sorriso. - Vamos, coronel. Vamos mostrar-lhes como os homens franceses sabem morrer bem.
Dugommier avançou para a luta e começou a golpear e a cortar o inimigo a torto e a direito. Napoleão abanou a cabeça, sentindo admiração pelo velho soldado; depois, contraiu
os músculos e encaminhou-se para o inimigo. Uma pequena parcela de racionalidade na sua mente admitia que era estranho: o medo que tinha e ao mesmo tempo o sentimento de libertação.
O plano já não interessava. A sua carreira já não interessava. Na sua mente, viu uma breve imagem da família e sentiu uma ponta de culpa pelo desgosto que lhe ia causar, mas
depois os pensamentos todos desapareceram, quando cerrou os dentes e se atirou ao soldado inimigo mais próximo.
Em inferioridade numérica, foram-se chegando ao baluarte; mas, em cada recuo, mais e mais elementos do pequeno grupo tombavam na lama, onde eram abatidos com a coronha de
um mosquete ou trespassados pelas baionetas. Napoleão, sem conseguir desviar os olhos dos inimigos que o rodeavam, sentiu que o chão sob as suas botas se elevava e compreendeu
que atingira o baluarte e que não havia mais espaço para recuar. Seria ali que morreria.
- Venham, filhos da mãe! - gritou, fazendo sinal ao inimigo com a mão livre. Dois homens responderam ao desafio e avançaram sobre ele. Um carregou, e quando Napoleão se moveu
para se esquivar do ataque, ele percebeu que tinha sido enganado. Antes que o outro pudesse recuperar o equilíbrio, o segundo homem deu um salto, deslizando até ele. Napoleão
moveu a espada para trás e conseguiu por pouco desviar a estocada contra a sua guarda com um golpe ressonante. A lâmina foi atirada para baixo, mas mesmo assim atingiu o alvo.
Napoleão sentiu o impacto, como se alguém o tivesse pontapeado com toda a força e depois uma picada de agonia em ebulição na barriga da sua perna esquerda, quando a baioneta
perfurou os seus calções enlameados e lhe esgaçou a carne.
Gritou e tornou a gritar, quando o inimigo arrancou a baioneta e a recuou para desferir um golpe directo no peito do oficial francês. Quando a ponta da baioneta se aproximou,
Napoleão ergueu o braço para tentar aparar o golpe. Uma silhueta escura interpôs-se, fazendo raspar metal contra metal: o general Dugommier desferiu um golpe no cano do mosquete,
atirando a arma para fora do alcance do inimigo. Desferiu novo golpe, desta vez no ombro do soldado, e o homem curvou-se e tombou no chão. Dugommier rosnou triunfante, mas
logo resfolegou quando o outro soldado que atacara Napoleão o atacou de lado, enfiando a ponta da baioneta na manga do general e pregando o braço que segurava a espada nas
costelas. Quando a baioneta foi retirada, Dugommier caiu ao lado de Napoleão, arfando agonizante. Napoleão esticou-se para pegar na espada e ergueu-a, tentando proteger ambos
do inimigo que apertava o cerco, pronto para lhes acabar com as vidas.
Ouviram-se gritos de cima e de trás e depois ainda mais clamores. Os britânicos pararam e olharam alarmados por cima das cabeças dos dois oficiais franceses. Depois, recuaram
e pegaram nas armas, concentrando-se num novo perigo. Napoleão olhou em volta. A todo o comprimento do baluarte, via escuras silhuetas de homens a treparem e a descerem para
o forte. Puxou a manga do general, muito excitado.
- Cuidado! - Dugommier encolheu-se. - Esse é o estupor do meu braço ferido!
- Senhor! É Muiron e o resto da coluna. Estamos salvos.
Dugommier olhou em volta.
- Muiron... Graças a Deus!
Capítulo 81
Os reforços inundaram o Forte Mulgrave, destruindo qualquer tentativa da parte dos ingleses de resistirem a uma desvantagem tão esmagadora. Os que não se renderam fugiram
pelo baluarte a leste e correram pelo caminho que levava aos fortes ainda nas mãos dos ingleses, no extremo da pequena península.
Com o chegar da aurora, a chuva começou, por fim, a perder intensidade, e Napoleão lá foi coxeando no caminho para L'Éguillette, com o pequeno trem de artilharia que havia
improvisado com as armas capturadas no forte Mulgrave. Um curativo feito à pressa era visível em redor da barriga da perna, e embora caminhasse amparado numa bengala para
não fazer esforço, cada passo era uma agonia. Não havia tempo a perder. Nem tempo para recuperar, admoestava-se a si próprio. A primeira fase do ataque tivera sucesso, mas
os dois fortes no extremo da península tinham de ser tomados, antes que o inimigo pudesse recuperar a coragem e corresse a enviar reforços para os defender.
Mas quando Napoleão e as suas armas chegaram ao cume do monte de onde se viam os dois fortes, era claro que os acontecimentos estavam a suplantar os pormenores do seu plano.
Uma fila contínua de barcos ia e vinha entre os navios aliados ancorados no porto de Toulon e os fortes. Napoleão sentiu o coração a afundar-se e deixou-se encostar ao carro
do canhão que vinha à frente do trem. Tinham chegado demasiado tarde. O inimigo reforçava maciçamente as guarnições dos dois fortes. Foi então que percebeu que os barcos que
se dirigiam ao forte iam vazios e que os que o deixavam iam cheios de homens e de equipamento.
- Meu Deus... eles estão a abandonar os fortes.
Abanava a cabeça, deslumbrado, quando Junot chegou ao pé dele, rindo e gesticulando na direcção dos barcos.
- Olhe, senhor! Eles estão a fugir!
- Sim, já vi. Mas custa-me a acreditar.
Junot deu uma palmada na boca do canhão, e todos os traços de cansaço desapareceram da sua cara salpicada de lama. Na encosta em redor, os homens que restavam dos batalhões
que haviam participado no assalto ao forte Mulgrave olhavam pasmados, enquanto o inimigo prosseguia com a evacuação. Junot virou-se de súbito para Napoleão.
- Senhor. Quais são as suas ordens?
- Ordens?
- Dou ordem para atacar? Se posicionarmos os canhões, podemos bombardeá-los enquanto fogem. - Os olhos de Junot brilharam com o pensamento. - Ou mandamos antes a infantaria?
Napoleão abanou a cabeça. Já tinha havido matança que chegasse. Nada se poderia ganhar com mais perdas de vidas.
- Deixem-nos ir.
- Deixá-los ir? - Junot franziu o sobrolho. - Senhor, eles são o inimigo. É nosso dever matá-los.
- Eu disse para os deixar ir! - disparou Napoleão, que logo se arrependeu da rispidez. Junot estava apenas excitado de mais. O tenente tinha procedido bem durante a noite
e não merecia um raspanete em público. Napoleão forçou-se a sorrir. - Junot, um conselho. Nunca interrompa um inimigo quando ele está a fazer um disparate.
- Senhor?
- Olhe. - Napoleão ergueu a bengala na direcção dos fortes. - Ele está a deixar o terreno. Não precisamos de atacar. Se atacarmos, que acontecerá se ele decidir reforçar as
defesas? Aí, perdemos tudo. Às vezes, ganhamos mais quando não fazemos nada.
Junot anuiu sem convicção.
- Deve ter razão, senhor.
- Óptimo. Então, envie uma mensagem ao general e diga-lhe o que está a acontecer. Diga-lhe que ocuparemos os fortes, logo que o inimigo saia. Teremos as nossas peças em posição
e a cobrirem o porto de abrigo, o mais depressa possível.
- Sim, senhor.
Junot fez continência e afastou-se apressado, à procura de um cavalo para fazer o caminho de volta ao forte Mulgrave.
A manhã ia passando, e o inimigo pôde completar a evacuação sem interferências. O último destacamento a partir enfiou espigões nas armas e fez explodir a pólvora que ainda
estava nos cartuchos. A explosão fez o chão tremer por instantes sob os pés de Napoleão, e ele olhou a tempo de ver um dos edifícios do forte de L'Éguillette a desintegrar-se
num clarão
brilhante, que depois cobriu o forte com uma densa nuvem de pó e fumo a rodopiar. Logo que o último barco dos casacas-vermelhas se afastou do forte, os soldados franceses
avançaram e hastearam a bandeira revolucionária. Napoleão pô-los logo a trabalhar, ordenando que afastassem as armas espigadas para que as do seu trem de cerco adquirido à
pressa pudessem ser colocadas em posição para abrirem fogo sobre o porto. Enquanto os soldados exaustos trabalhavam, Napoleão subiu à torre mais alta do forte e sentou-se
a observar com um telescópio os acontecimentos que ocorriam no outro lado do porto.
Pouco depois do meio-dia, uma nuvem de fumo apareceu por cima das docas e as chamas lamberam os armazéns e as oficinas navais. Nas horas seguintes, as fragatas aliadas carregaram
barcos cheios de civis e de soldados, e era claro que o inimigo tencionava abandonar o porto, destruindo o máximo que pudesse, antes de deixar Toulon. Ancorados no mar, os
grandes navios da linha da Royal Navy contemplavam sem nada poderem fazer, dado que o comandante da frota não se atrevia a expô-los às baterias francesas, que podiam varrer
o porto de abrigo com balas aquecidas.
Logo que o primeiro dos canhões ficou pronto, Napoleão deu ordem para abrirem fogo, e os franceses mantiveram um bombardeamento de intimidação enquanto houve luz do dia. Os
fogos nas docas continuaram a arder durante o crepúsculo e pela noite fora, iluminando grande parte do porto com um tom alaranjado infernal. Mais fogos eclodiam nos navios
capturados, que o inimigo era forçado a deixar para trás; e quando as chamas chegavam ao porão da pólvora, os cascos dos navios explodiam numa série de luzes que cegavam,
libertando sequências de bramidos profundos, que ecoavam à roda do porto.
À meia-noite, o tenente Junot juntou-se a Napoleão na torre, e observaram a destruição num silêncio chocado. Passado algum tempo, Junot murmurou:
- Que Deus ajude aquelas pobres almas.
Napoleão voltou-se para ele, com uma expressão de curiosidade.
- Eles são os nossos inimigos, Junot. É disto que trata a guerra.
- Eu sei, senhor. - Junot encolheu os ombros. - Mas não posso deixar de sentir pena.
Napoleão pensou alguns minutos no assunto e depois acrescentou:
- A guerra é uma coisa terrível. O melhor que podemos esperar é lutar com eficiência, para que o resultado surja com rapidez e morra o número mínimo de pessoas. Por causa
desse objectivo, não podemos ter piedade, Junot.
- O senhor pode ter razão. - Junot contemplou de novo o porto e falou em voz baixa. - Mas que Deus os ajude, mesmo assim.
Quando o Sol se ergueu na manhã seguinte, as docas ainda fumegavam, e os esqueletos dos edifícios e dos navios carbonizados ali estavam negros e mirrados, em contraste com
a distante e enorme massa cinzenta do monte Faron. Não restavam navios inimigos no porto de abrigo, e no mar, Napoleão já só conseguiu discernir os borrões brancos esbatidos
das velas da frota britânica, que se afastava humilhada.
Depois das nove horas, Junot chamou a sua atenção para o coração de Toulon. Pegando no telescópio, Napoleão percorreu os telhados vermelhos dos edifícios, até que viu algo
branco e azul a brilhar: a bandeira dos Bourbon foi lentamente descida do mastro no topo do quartel da guarnição do porto. No momento seguinte, a bandeira tricolor foi hasteada
no seu lugar, desfraldada e ondulando com a brisa.
- Está acabado, então. - Napoleão sentiu-se estranhamente vazio e cansado. Depois de tantas semanas de planeamento para aquele instante, depois de tanta dedicação de todas
as suas horas à queda de Toulon, pouca sensação de triunfo sentia; sentia apenas exaustão. - Vencemos!
- Esta vitória é sua, senhor. - Junot sorriu. - O plano é seu e teve um resultado muito melhor do que alguém poderia esperar.
- Muito obrigado, Junot.
Foram interrompidos pelo som de passos nas escadas; voltaram-se e viram o capitão Muiron a sair da escadaria da torre e a aproximar-se deles. Sorria, quando parou e fez continência.
Depois, retirou um envelope lacrado de dentro da sua casaca muito suja e estendeu-o a Napoleão.
- Despacho dos representantes Saliceti e Fréron, senhor.
Napoleão partiu o lacre e leu rapidamente a mensagem; releu-a mais
devagar e, finalmente, levantou os olhos do papel.
- Parece que me querem promover a brigadeiro.
- Parabéns, senhor. - Sorriu matreiro Junot. - Não é mais do que o que merece.
Napoleão olhou de novo para a carta. Há apenas três meses era um humilde capitão, com muitas dificuldades em encontrar um patrono. Agora ia ser brigadeiro. Fosse qual fosse
o padrão em que se enquadrasse, seria sempre uma ascensão vertiginosa para um soldado. E agora ele estava curioso em saber até onde poderia ir neste mundo um homem assim.
Capítulo 82
Flandres, Maio de 1794
Os reforços de Lorde Moira tinham desembarcado em Ostend, mesmo a
tempo de abandonarem o porto. Os franceses haviam quebrado as linhas austríacas e ameaçavam interpor-se entre os reforços e o resto do exército britânico, que já se encontrava
em retirada em direcção a Antuérpia.
O tenente-coronel Arthur Wesley puxou as rédeas ao cavalo e permaneceu sentado durante alguns minutos a ver a passagem do seu regimento. Os homens da 33ª infantaria pareciam
bastante animados, se se considerar que estavam prestes a fazer uma retirada forçada face ao avanço das colunas do inimigo. A disposição iria mudar depois de um dia duro de
marcha. A maior parte dos homens estava calejada o suficiente, mas, como tantos outros regimentos num exército em rápida expansão, tinham uma massa inconstante de recrutas
verdes, homens que eram muito velhos, ou pouco mais do que rapazes, ou que tinham constituição fraca, ou que eram pobres de espírito. Arthur sentiu alguma pena deles. Nos
dias que se aproximavam, seriam os que mais sofreriam e os que menos hipóteses teriam de sobreviver.
Virou-se na sela e olhou para trás, para a estrada de Ostend. Uma espessa coluna de fumo espreguiçava-se no ar por cima do depósito. Lorde Moira dera ordens para que se queimassem
todos os armazéns e equipamento que não pudesse ser transportado por homens ou vagões. Para Arthur, isto era um desperdício escandaloso. A maior parte do equipamento era novinha
em folha e desfazia-se agora em fumo, mesmo antes de ter sido estreada. Mas nada se podia fazer. Seria muito pior se se permitisse que o equipamento caísse nas mãos dos franceses.
A ofensiva francesa apanhara os aliados de surpresa, e estes tinham ficado em completa desordem e tinham batido em retirada perante os fanáticos exércitos da revolução. Custava
a acreditar que as fortunas da guerra pudessem ser invertidas tão extensamente. Apenas há um ano, o exército austríaco, após infligir numerosas derrotas aos franceses, poderia
ter rolado pelo Norte de França e ter atacado Paris, o coração da revolução. Mas o príncipe Frederico de Saxe-Coburg tinha ficado satisfeito em quase nada avançar com uma
enorme frente, e agora os aliados pagavam o preço da sua indolência.
- Mantenham o passo de marcha aí atrás! - berrou um sargento para os homens da cauda da coluna. - A não ser que queiram levar com uma baioneta francesa pelo cu acima!
Alguém o mandou à fava, alto e bom som, e os soldados desataram a rir; o sargento apareceu logo a correr, à procura do culpado, vindo da retaguarda.
- Quem de vocês sacanórios cabou de 'sinar a sentença de morte?
Os soldados mantiveram-se silenciosos, mas não puderam evitar
sorrisos trocistas.
- Ninguém, eh? - O sargento fez um sorriso cruel. - Bem, cá te-
nho maneiras deescobrir. E quando souber quem é, ranco a garganta ao gajo, podem crer.
Arthur foi cavalgando a passo, com a coluna a afastar-se de Ostend, a atravessar os Países Baixos Austríacos e a encaminhar-se para a segurança de Antuérpia. Embora tivessem
sido enviados para proteger aquelas gentes dos exércitos franceses, Arthur percebera que as simpatias dos residentes estavam com os revolucionários. Conseguia compreendê-los.
O continente da Europa era uma manta de retalhos, feita de reinos, principados e províncias, trocadas entre as grandes potências como se fossem cartas de jogar. Agora, a França
fazia chegar a eles a hipótese da revolução, a perspectiva de poderem decidir o seu próprio destino. Só que a revolução era uma farsa. Não havia nenhuma irmandade de homens
a unir os líderes da revolução; apenís uma colecção reles de déspotas mesquinhos, agarrando-se às rédeas do poder a qualquer preço. Os habitantes de Vendée, Lyons, Marselha
e Toulon tinham-no descoberto de forma demasiado nítida, e agora os sobreviventes dos que se atreveram a questionar o poder dos demagogos de Paris percorriam uma paisagem
de aldeias incineradas e de cadáveres putrefactos.
- Pago para saber o que estás tu a pensar, Arthur.
Arthur olhou e viu o capitão Fitzroy e a sua montada a colocarem-se a seu lado. Ele tocou na ponta do chapéu e Arthur respondeu da mesma forma. Fitzroy era um dos comandantes
das suas companhias e seu ajudante, que se juntara à 33ª logo após Arthur ter assumido o comando. O irmão emprestara-lhe dinheiro para comprar uma comissão de tenente-coronel,
e Arthur tinha estado a preparar a 33ª para a guerra desde o Outono de 1793. Não obstante a distância hierárquica, o capitão Fitzroy e Arthur eram da mesma idade e bons amigos.
Tão chegados, que Fitzroy podia dispensar as formalidades quando o dever não as exigia. Arthur apontou para trás, para o fundo da estrada e para as colunas de fumo.
- Estava apenas a lamentar o desperdício.
- Sim, parece um absurdo. Totalmente absurdo - respondeu Fitzroy. - Aqui estamos nós, meses à espera para entrar em acção, e o primeiro raio de coisa que fazemos é procurar
abrigo. Isto não é maneira de se fazer a guerra.
- É verdade - assentiu Arthur.
A 33ª recebera ordens para se juntar ao comboio destinado às índias Ocidentais, antes de ter sido arrebanhado dos seus navios, no último minuto, para se juntar ao exército
que Lorde Moira reunia para invadir a Bretanha francesa. Após longos meses de preparação, a força tinha aparecido na costa francesa, descobrindo então que a revolta, que tinha
sido enviada para apoiar, tinha acabado de ser esmagada. E assim, por fim, a 33ª desem-
barcara em Ostend, com água na boca de tanto querer dar uma dentada no inimigo, descobrindo que as ordens recebidas já não eram relevantes, graças aos avanços varredores dos
franceses.
Arthur percorreu a paisagem com os olhos e depois fixou-os num pequeno grupo de homens que observavam a passagem da coluna do cimo de um dique, a alguma distância a sul. Ergueu
o braço e apontou.
- Acho que poderás ter a tua oportunidade de luta mais depressa do que julgas. Olha para ali.
Fitzroy seguiu a direcção indicada.
- O inimigo?
- Quem mais? Certamente não são homens nossos. E há muito poucas probabilidades de serem austríacos. A última informação que tive dizia que eles iam a correr de volta ao Reno...
"
- Escumalha - murmurou Fitzroy sombrio. - Sacam-nos o dinheiro todo e depois deixam-nos pendurados em frente aos francesinhos. Escumalha...
- Bem, pois... é isso - Arthur anuiu. - Mas estamos onde estamos, Fitzroy. Nada mais podemos fazer agora.
- Não. Parece que não. Mas são uns sacanas os austríacos, não é?
- Claro. Sacanas de austríacos...
- Não duvido que aqueles francesinhos além vão dar conta de todos os nossos movimentos.
- Podes apostar que sim.
- Ah, sim? - Fitzroy sorriu trocista. - Quanto?
- Eu disse literalmente podes apostar que sim. Eu já não sou homem de apostas.
- Tu o disseste. Mas aposto que se te desse umas boas probabilidades. ..
- Fitzroy, estás a tornar-te aborrecido. - Arthur não estava com grandes apetites para conversas, sobretudo se fossem acerca de algo que só podia aumentar o seu sentimento
de frustração. Olhou para trás, para a companhia de Fitzroy. - Os teus rapazes estão a abrandar o passo. Agradecia que os fosses apressar, capitão.
A adopção do ar formal levou a que as sobrancelhas de Fitzroy se erguessem, mas ele fez continência, mesmo assim, deu meia volta ao cavalo e afastou-se a trote.
Arthur deu um suspiro de alívio por tornar a ficar só com os seus pensamentos. Esses momentos tinham sido quase um luxo desde que deixara Dublin. De imediato, a sua mente
se encheu da imagem de Kitty. A tão familiar picada de raiva permanecia no seu peito, ao recordar a humilhação a que tinha sido sujeito pelo irmão dela, quando este último
tinha recusado
permitir que Kitty se casasse com uma possibilidade de futuro tão depauperada como a de Arthur. Nos meses que se seguiram, tinha-se atirado aos seus deveres, em parte para
aumentar os seus conhecimentos de matérias militares, mas sobretudo para afastar da sua mente pensamentos sobre Kitty. Pouco antes de sair de Dublin, ele tinha-se sujeitado
a uma derradeira humilhação e escrevera-lhe, admitindo com franqueza ser inapropriado para ela, mas pedindo-lhe para reconsiderar a sua oferta de casamento, se os Pakenham
julgassem que a sorte dele tinha melhorado significativamente em alguma ocasião no futuro. Concluira a carta dizendo que sempre a amaria e que sempre honraria a proposta de
casamento. Não que existissem muitas possibilidades de progressão para ele naquele momento, lamentava-se Arthur, carrancudo. Havia poucas oportunidades no exército para alguém
ganhar reconhecimento e as que apareciam tinham largamente sido desperdiçadas em derrotas e em desgraças. Poucos sinais havia de que esta campanha na Flandres viesse a ser
diferente.
A força do Lorde Moira consistia sobretudo em infantaria, mais duas baterias de canhões de seis libras e um regimento de cavalaria ligeira desfalcado, que de pouco servia,
a não ser para fazer serviço de batedores e correios. Uma força tão pouco equilibrada seria vulnerável se o inimigo conseguisse travá-la o tempo suficiente para trazer a artilharia
necessária e acabar com eles. Assim, eles mantinham-se em movimento, impelidos pelos oficiais e graduados em oficial, marchando para nordeste, sob o Sol tórrido do Verão.
Com casacos de lã, polainas de couro e carregando cerca de trinta quilos de equipamentos e mantimentos, os homens depressa ficaram exaustos, e, ao crepúsculo do primeiro dia,
a coluna já tinha perdido uma mão-cheia de retardatários aflitos. Alguns iriam conseguir alcançá-la durante a noite, mas os demasiado exauridos, que não conseguissem juntar-se
aos camaradas, ficariam à mercê do inimigo. Houve mais retardatários na segunda noite, e, nessa altura, já com os batedores franceses muito mais próximos da coluna, Arthur
escutou o som breve de tiros distantes, quando eles arrasavam um pequeno grupo de casacas-vermelhas que se tinha deixado atrasar e se separara do resto da coluna.
A marcha prosseguiu na manhã seguinte, num tom ainda mais silencioso, com a boa disposição que os homens tinham evidenciado ao abandonarem Ostend a esfumar-se, substituída
por uma mal-humorada determinação em prosseguir. Ao meio-dia, pararam a pouca distância da aldeia de Ondrecht, onde uma ponte atravessava o rio Anhelm, um pequeno afluente
do Schelde.
- Mochilas no chão!
A ordem foi repetida pela coluna fora, e os homens muito agradeceram poderem abrir as fivelas das desconfortáveis tiras das alças que lhes
restringiam a respiração e pousarem as mochilas no chão, na berma da estrada. As tampas foram retiradas dos cantis, e as bocas ressequidas dos soldados engoliram alguns tragos
de água tépida. Arthur percorreu a estrada poeirenta, trocando algumas palavras com os seus oficiais e tentando preservar a aparência de calma imperturbável, que ele acreditava
que um oficial de comando devia exibir perante os subordinados.
Ao tornar a montar o cavalo, Arthur reparou num esquadrão da cavalaria britânica, que galopava num campo a sul. Aproximaram-se da coluna numa tangente e depois guinaram em
direcção ao grupo de oficiais do comando, mesmo a seguir à vanguarda.
- Há sarilhos - murmurou um dos sargentos.
Efectivamente, o alferes que comandava o esquadrão apontava muito
agitado para sudoeste, enquanto apresentava o seu relatório a Lorde Moira. O general consultou rapidamente os seus ajudantes, e logo um deles cavalgou pela coluna abaixo,
berrando ordens. Ao passar, oficiais e graduados em oficial formavam rapidamente as suas unidades junto à estrada, aprontando-se para continuar a marcha. O oficial do comando
ainda se encontrava a uma certa distância, mas Arthur decidiu não se atrasar, nem por mais um minuto.
- O regimento vai formar!
Imediatamente, os homens sentados nas bermas da estrada, embora com dificuldade, puseram-se de pé, carregaram com as mochilas, pegaram nas armas e correram para as respectivas
posições. Ficaram imóveis, prontos para iniciarem a marcha, quando o oficial do comando parou o cavalo, ao chegar perto de Wesley, atirando com gravilha da estrada e pedaços
de terra para cima dos soldados mais próximos.
- Cumprimentos do general, senhor - disse o oficial, fazendo continência. - Os batedores informam que o inimigo se aproxima a sul. Sua Senhoria teme que os franceses possam
estar a tentar impedir-nos de atravessar o Anhelm.
- Qual é a força do inimigo?
- A informação dos batedores é de dois regimentos de cavalaria, uma bateria de artilharia móvel e alguns batalhões de infantaria, que os seguem a um quilómetro e meio de distância.
- A que distância se encontram?
- Quinze talvez dezasseis quilómetros. Era onde estavam, quando os batedores os viram.
- Quinze quilómetros?
Atur franziu o sobrolho e fez alguns cálculos de cabeça. Os franceses encontravam-se a três horas dali, no máximo. A ponte sobre o Anhelm estava a seis quilómetros, no mínimo.
Havia grandes hipóteses de a cavala-
ria inimiga apanhar a coluna antes de poderem atravessar em segurança. A corrida tinha começado. Arthur sorriu com amargura. Olhou para o oficial do comando e acenou com a
cabeça.
- Muito bem. Os meus cumprimentos a Lorde Moira. Diga-lhe que daremos o nosso melhor para o acompanharmos.
- Sim, senhor.
O oficial fez continência, deu meia volta à montada e galopou de volta à testa da coluna, que já marchava pela estrada fora, levantando nuvens de poeira ao avançar em passo
acelerado. Uma a uma, as unidades da coluna britânica começaram a marchar em frente, até que, por fim, Arthur deu ordem para que o seu regimento se pusesse em marcha. Parando
o cavalo numa das bermas da estrada, Arthur ficou a observar os seus homens a passarem por ele, durante alguns instantes, e depois abriu o alforge e procurou o óculo. Percorreu
com o olhar os terrenos a sul. Embora estivesse um dia quente com canícula ao longo do horizonte, logo detectou uma espessa nuvem de pó a assinalar a coluna inimiga. Os franceses
deviam estar informados da posição da coluna inglesa. Se o comandante deles tivesse discernimento rápido, muito em breve iria dar ordens para que a cavalaria avançasse para
tentar impedir o acesso da coluna de Lorde Moira à ponte de Ondrecht. Teria de ser uma manobra para os atrasar apenas, dado que os britânicos estariam em superioridade numérica,
mas se a cavalaria francesa pudesse aguentar a coluna o tempo suficiente para que a infantaria chegasse e a apoiasse, então, concluiu Arthur, os britânicos ficariam numa situação
muito difícil. Particularmente se...
Moveu-se na sela e dirigiu o óculo para a estrada a leste. Era claro que havia ali uma outra nuvem de poeira esbatida atrás deles. Fechando o óculo, trotou ao longo da fila
do regimento, até que encontrou Fitzroy, e depois travou a montada ao lado do amigo. Inclinou-se um pouco para ele e falou em voz baixa.
- Vai ter com o general. Diz-lhe que há outra coluna inimiga atrás de nós. Não vás muito depressa. Não vai parecer bem aos homens. Eles já têm que chegue com que se preocupar.
- Sim, senhor.
Fitzroy olhou instintivamente para trás, por cima do ombro, mas a visão estava toldada pela poeira atirada ao ar pelas botas dos homens da 33ª. Deu um estalo com a língua
e, com um toque nas rédeas, afastou o cavalo da fila e depois trotou pela berma acima.
Na altura em que a coluna britânica avistava a aldeia de Ondrecht, os primeiros esquadrões da cavalaria inimiga ficaram visíveis, trotando através dos campos. A pouca distância
deles, vinha a artilharia, com as equipagens dos canhões agarradas aos vagões de munições, balançando aos altos e bai-
xos. Arthur anuiu para si próprio, com um sorriso de gozo. O comandante inimigo tinha falhado a grande jogada que teria sido enviar aquelas unidades para a frente, de imediato.
Agora já só poderiam assediar os ingleses quando estes atravessassem a ponte. Muito mais preocupante era a força que se aproximava por detrás deles. A nuvem de pó tinha-se
aproximado rapidamente da cauda da coluna, e era visível que estavam a ser perseguidos por uma potente força de cavalaria. Mesmo agora, com Ondrecht à vista, Arthur podia
ver os homens a olharem para trás, com expressões ansiosas. Era tempo de pôr termo a isso, decidiu.
- Sargento-Mor!
- Senhor?
- Quero que o próximo homem que olhe para trás seja castigado!
- Sim, senhor. - O sargento-mor encheu o peito de ar e berrou.
- 'Cês ouviram o coronel! Seu vejo algum a deitar nem que seja uma olhadela prós franciús, parto-lhas pernas, porra!
A vanguarda da coluna atravessou acelerada a ponte e ocupou os edifícios na outra margem do Anhelm, ignorando os furiosos gritos de protesto ou queixumes piedosos dos habitantes.
Lorde Moira posicionou um outro batalhão na orla sul da aldeia, para proteger o flanco, enquanto o resto da coluna começava a atravessar a ponte, que era de pedra e antiga
e tinha apenas largura para os carros dos canhões atravessarem à tangente, com muito cuidado. Mesmo assim, o estrangulamento atrasou o movimento da coluna até que esta teve
de seguir a passo de caracol, enquanto a força do inimigo se aproximava rapidamente da sua cauda, onde Arthur e os homens da 33ª esperavam impacientes pela sua vez, persuadindo
os homens à frente deles a despachar-se.
O inesperado estrondo brutal de um disparo de canhão atraiu a atenção de Arthur para o avanço das forças inimigas, a sul da aldeia. Uma fina nuvem de fumo ocultou as armas
e respectivas equipagens por momentos, antes de as silhuetas emergirem no nevoeiro, e os franceses prepararem novo disparo. A alguma distância à frente deles, uma linha de
dragões da cavalaria tinha avançado até tão perto da vila que podia abrir fogo sobre eles, e o ar logo se encheu com os estampidos dos tiros que trocavam com a infantaria
britânica que guardava o flanco. Nem assim a coluna adiante de Arthur se movia. Atrás deles, a guarda avançada da cavalaria inimiga, que os perseguia, tinha chegado e estava
visível, parada e mantendo a coluna britânica sob apertada vigilância. Não havia como evitá-lo, percebeu Arthur. Teriam de lutar para conseguirem atravessar a ponte. Chamou
um dos alferes.
- Diga a Lorde Moira que a cavalaria inimiga nos alcançará em breve. Vou levar a 33ª para fora da fila para cobrir a retirada.
Enquanto o rapaz se afastava, Arthur deu ordem para mudar de for-
mação e de direcção. Com alguma satisfação viu como o regimento executava a manobra com um grau elevado de competência. A 33ª só recentemente adoptara as manobras preconizadas
por Sir David Dundas, e Arthur ficara contente por se ver livre da tarefa de ter de esquematizar os próprios exercícios, um dever requerido a todos os comandantes de regimentos
antes do advento do código de movimentações militares de Dundas. Em poucos minutos, o regimento tinha-se posicionado ao longo do terreno de ambos os lados da estrada e agora
estava formado em duas fileiras, pronto para a acção. A um quilómetro abaixo na estrada, a cavalaria francesa formava no meio de uma densa nuvem de pó, através da qual cintilavam
os reflexos dos metais polidos. Arthur inteirou-se de um trepidar contínuo de cascos com ferraduras e pareceu-lhe que quase o sentia através do chão, debaixo do seu próprio
cavalo.
Um relance por cima do ombro revelou-lhe que a coluna inglesa tinha avançado um pouco mais com o regimento que precedia a 33ª a começar a entrar no caminho de cabras que atravessava
a aldeia em toda a extensão. Mas não havia hipótese de a coluna atravessar o Anhelm antes de a cavalaria inimiga atacar. Arthur rapidamente calculou a distância entre a sua
posição e a aldeia, antes de dar a ordem seguinte.
- A 33ª vai recuar duzentos passos!
Logo que a ordem foi transmitida, os homens deram meia volta e começaram a marchar abrigando-se nas toscas casas dos camponeses flamengos, que ainda contemplavam nervosos
a aproximação dos soldados, espreitando pelas portas e portadas de janelas.
- Vêm aí! - gritou uma voz, e Arthur voltou-se para ver a vaga de ataque da cavalaria francesa a avançar, onde se distinguiam as duas primeiras linhas, estando as seguintes
ocultas pelo pó. Não houve nenhuma carga atabalhoada como os regimentos ingleses costumavam fazer. Em vez disso, o inimigo veio galopando a trote, que gradualmente foi aumentando
até um meio-galope, não mais do que isso, com os oficiais a controlarem os seus subordinados. Um espectáculo impressionante, matutava Arthur. E mortal também.
- Alto! - gritou. - Meia volta e... preparar para receber a cavalaria!
O regimento parou a uma pequena distância da aldeia e preparou-se para enfrentar a ameaça.
- Preparar baionetas! - gritou o sargento-mor, e ouviu-se um breve raspar cacofónico das lâminas a serem retiradas das bainhas e as baionetas a serem colocadas nas pontas
dos canos dos mosquetes. Durante este tempo, a cavalaria inimiga aproximava-se, e agora Arthur conseguia distinguir que eles eram hussardos: cavalaria ligeira, armada com
pistolas ou carabi-
nas, para além dos sabres. Hesitaram por um momento, quando os britânicos pararam para os enfrentar.
- Preparar para disparar! - gritou Arthur, e os oficiais repetiram a ordem ao longo da linha. Os homens carregaram as armas e logo que a última vareta foi retirada dos canos,
os mosquetes foram posicionados para disparar. A cavalaria inimiga aproximou-se ainda a meio-galope, até não estarem a mais de duzentos metros.
- Todos quietos! - gritou Arthur. - Aguardem pela ordem!
Havia sempre um cabeça-quente ou um simplório qualquer que não
aguentava e disparava a arma, mesmo não havendo hipóteses de atingir o alvo àquela distância.
Com um repentino tocar de trombetas e um grande clamor profundo, a cavalaria francesa lançou-se, por fim, na carga, e o chão tremeu com o impacto das suas montadas.
- Quietos! - gritou Arthur.
Os homens esperaram, com os mosquetes posicionados, quando a cavalaria se lhes dirigiu, com os cabelos entrançados a baterem por debaixo dos barretes e as bocas abertas sob
bigodes encerados, enquanto se incentivavam com gritos. De braço estendido, apontavam para os britânicos, brandindo as pontas das espadas. No momento em que chegaram à distância
de cem metros, Arthur berrou a ordem de fogo.
A rajada estourou, obscurecendo a cavalaria por momentos. Depois, o ar encheu-se com os gritos dos feridos, o estridente relinchar de cavalos estropiados e as exclamações
violentas de homens apanhados na barafunda da destruição trazida pela aniquiladora saraivada das balas de mosquete britânicas.
- Recarregar!
Enquanto os homens pegavam em cartuchos novos, mordiam-lhes as pontas e cuspiam as balas pelos canos dos mosquetes abaixo, Arthur ergueu-se nos estribos e tentou ver por cima
da nuvem do fumo de pólvora, que circulava junto ao chão, adiante do seu regimento. Conseguiu distinguir um guia a acenar, provando que o inimigo reagrupava os sobreviventes
da rajada e tentava renovar a carga. Logo que os homens acabaram de recarregar as armas, Arthur ergueu o braço, esperou um instante e deixou-o cair com toda a força.
- Fogo!
A segunda rajada rebentou com brilhantes picos de labaredas, mais fumo e um renovado coro de gritos e confusão. Mais uma vez, os casacas-vermelhas recarregaram, e depois houve
uma breve pausa, antes de Arthur ouvir a voz de Fitzroy a gritar-lhe de perto.
- Estão a recuar!
As suas palavras foram recebidas nas fileiras por um coro desafinado de vivas.
- Silêncio! - berrou Arthur. - Todos em silêncio!
O barulho depressa se desvaneceu, e depois Arthur ouviu ele próprio o som da retirada do inimigo. Esperou mais um pouco, até que o fumo se dispersasse o suficiente para ele
ver que era verdade, e não um truque dos franceses, antes de dar a ordem para o regimento continuar a recuar na direcção da orla da aldeia. A 33ª movia-se lentamente, para
assegurar que a linha não era quebrada, com os sargentos concentrando a atenção em manter os soldados alinhados quando passavam por cima de terreno acidentado.
Não levou muito até que os franceses recuperassem a coragem, reformassem a linha e avançassem de novo. Desta vez a linha era mais longa e outras unidades tinham sido acrescentadas
em cada ponta. A intenção deles foi clara para Arthur, logo que os viu a aproximar-se. Virou-se para o adjunto.
- Meu Deus! Eles querem flanquear-nos!
- Flanquear-nos? - Fitzroy parecia alarmado, mas logo engoliu em seco, endireitou as costas e desviou o olhar da cavalaria que se aproximava da linha britânica. - Senhor,
quais são as suas ordens?
Arthur calculou a distância. A cavalaria encontrava-se a quase quinhentos metros de distância e iria carregar sobre os casacas-vermelhas, antes de se poderem refugiar na aldeia.
Havia apenas uma coisa a fazer, mesmo requerendo isso uma perigosa mudança de formação e um muito mais lento movimento de recuo em direcção à segurança, se a manobra fosse
levada até ao fim com sucesso. Arthur olhou para trás, para a cavalaria, que já começava a trotar. Não havia tempo para mais pensamentos. Respirou fundo e gritou na voz mais
calma que arranjou.
- A 33ª vai formar em quadrado!
Devagar (parecia devagar de mais), a linha parou, e as companhias nos flancos dobraram-se para trás, como se fossem as dobradiças do centro da linha, que ainda estava virada
para a cavalaria inimiga. A seguir, as companhias de infantaria ligeira e de granadeiros viraram-se para trás, completando a retaguarda da formação. Não era bem um quadrado,
pensou Arthur. Era mais uma caixa, e a melhor protecção que a infantaria podia ter face à cavalaria inimiga: um inquebrável perímetro de baionetas que cavalo algum podia ser
persuadido a enfrentar. Enquanto o perímetro se mantivesse inquebrável, os casacas-vermelhas estavam salvos. Se os franceses conseguissem encontrar uma brecha e aproveitá-la,
então, os homens da formação estariam perdidos.
As notas graves das trombetas da cavalaria soaram de novo, e os cava-
leiros forçaram as suas montadas numa carga no oblongo da infantaria britânica. Os cavaleiros nas alas dirigiram os cavalos em linha recta, esperando passar pela frente do
quadrado, seguir pelos lados e depois cortar o acesso à aldeia à 33ª. Um plano simples e eficiente, se conseguissem eventualmente desbastar a infantaria o suficiente para
forçar uma brecha no quadrado.
Desta vez, Arthur aguentou os disparos até que os hussardos estivessem muito mais perto, com a intenção de quebrar a carga numa rajada destruidora. Os hussardos abrandaram
momentaneamente, enquanto passavam por cima ou se desviavam dos mortos e feridos do primeiro ataque, e depois lançaram-se contra o quadrado britânico.
- Fogo!
A mesma rajada selvagem de antes, e a mesma carnificina de antes, logo seguidas de mais fogo dos lados do quadrado, quando o inimigo lá passava a galope; bastantes foram atingidos
e atirados das selas abaixo, ou esmagados quando as montadas atingidas caíam e rolavam pelo chão por cima deles. Houve um breve hiato, enquanto a cavalaria francesa puxava
as rédeas e deitava mão às armas de fogo. Arthur aproveitou a oportunidade.
- O quadrado vai recuar para a aldeia! Sargentos, mantenham a formação cerrada!
Com o sargento-mor a regular a marcha, o quadrado foi retrocedendo em direcção à aldeia, um passo de cada vez, sem parar para recarregar as armas. Agora a vantagem passava
para o inimigo, e os hussardos empunharam as pistolas e carabinas e começaram a disparar para o quadrado, à queima-roupa. Os primeiros homens de Arthur começaram a cair; alguns
caíam logo mortos e eram deixados estendidos no chão, e os camaradas passavam cuidadosamente por cima deles. Os feridos foram arrastados para o centro do quadrado, onde os
porta-bandeiras e os músicos da banda faziam o melhor que podiam para que fossem acompanhando o quadrado, que se ia aproximando da aldeia.
Enquanto Arthur observava isto, um hussardo, a não mais de dez metros dele, ergueu a carabina, calmamente fez pontaria com o cano, até que a ponta se reduziu a um ponto negro,
e Arthur, com uma doentia sensação de medo, apercebeu-se de que o hussardo o tinha escolhido para alvo. O francês sorriu, piscou um olho e puxou o gatilho. O cano relampejou,
e Arthur instintivamente fechou os olhos e esperou pela dilacerante agonia do impacto. Ouviu-se um grito ali perto, e ele sentiu um corpo encostar-se à sua bota. Arthur abriu
os olhos, olhou para baixo e viu um cabo a tombar no chão ao lado do seu cavalo, deitando as mãos à garganta, de onde o sangue jorrava em jactos espessos. O homem olhou para
ele em desespero, e, por instantes, entreolharam-se. Arthur sentiu um pânico horroroso a apoderar-se dele, ao contemplar o homem mortalmente ferido. Logo sacudiu o medo
e esporeou o cavalo em direcção à frente do quadrado, não se atrevendo a olhar para trás, para o soldado moribundo. O capitão Fitzroy andava a cavalo para cima e para baixo,
por detrás da parte da frente do quadrado, gritando palavras de encorajamento aos seus homens, que estavam a sofrer o fogo esporádico dos hussardos que se encontravam entre
o quadrado e a aldeia. Ao ver Arthur, puxou as rédeas e forçou-se a rir.
- Isto está quente, senhor.
- Deveras! - Arthur sobressaltou-se, ao ver uma bala a cravar-se no rosto de um dos homens da companhia da frente. - Não conseguimos aguentar isto. Estão a atingir um número
muito elevado dos nossos homens. Temos de parar e recarregar!
- Parar? Será isso sensato, senhor? Dar-lhes-á tempo para trazerem ainda mais forças.
- Talvez, mas não perderei mais homens do que o necessário.
Arthur afastou-se e procurou o sargento-mor.
- Parar o quadrado e recarregar!
- Sim, senhor.
O sargento-mor fez continência, respirou fundo e berrou as ordens, fazendo o regimento imobilizar-se. De imediato, os casacas-vermelhas pegaram em cartuchos novos e iniciaram
a costumeira sequência de movimentos de preparação das armas.
- Fogo por companhias!
À ordem de Arthur, uma série de rajadas explodiram em cada uma das faces do quadrado, ceifando os hussardos que os haviam atormentado apenas um momento antes. Um contorno
disperso de mortos e moribundos depressa tomou forma a uma pequena distância de cada face do quadrado, com uma escassa mão-cheia de disparos do inimigo como resposta. Depois
de sofrerem várias rajadas, os franceses tocaram a retirada, e os cavaleiros que restavam rapidamente desviaram as suas montadas e galoparam para fora do alcance das armas
britânicas.
- Cessar-fogo! Cessar-fogo! - Arthur apontou para os edifícios mais próximos. - O regimento vai recuar para a aldeia!
Mais uma vez, o quadrado lentamente se foi afastando do inimigo. Desta vez, os franceses não intervieram, mas vigiaram os casacas-vermelhas na zona para além do alcance efectivo
dos mosquetes, prontos para carregarem no momento em que os britânicos quebrassem a formação. Porém, os longos meses de exercícios monótonos na parada do quartel em Inglaterra
mostraram o que valiam, e a 33ª infantaria em formação conseguiu alcançar a entrada da aldeia. Com edifícios e cercas para proteger os flancos, a formação em quadrado já não
era necessária, e Arthur pôde destacar uma companhia para o
lado oposto da rua, como guarda recuada, enquanto as outras faziam fila na estreita via que dava acesso à ponte.
Certo de que os seus homens estavam em segurança por algum tempo, Arthur virou o cavalo para a ponte. A cauda do comboio de mantimentos ainda estava a percorrer a passagem
estreita, e alguns dos veículos mais largos, demasiado largos para a passagem, tinham sido desatrelados dos animais de carga e empurrados pela encosta íngreme abaixo, para
o rio. Lorde Moira e a sua pequena brigada estavam num dos lados a observar os procedimentos e olharam para trás, ao ouvirem o som da montada de Arthur a bater no empedrado
da praça do mercado da aldeia. Arthur parou o cavalo, e Lorde Moira acenou um cumprimento.
- Qual é a situação, Wesley?
- Temos a cavalaria inimiga nos arredores da aldeia, senhor. A 33ª tem-na na mira e está a contê-la à distância, enquanto recua para a ponte.
- Óptimo! - anuiu o general, sem rodeios. - Isso é óptimo. Ainda nos estão a dar umas marretadas com aquelas armas a sul, e a infantaria deles estará pronta a assaltar a aldeia
em breve. Mas devemos conseguir aguentá-los o tempo suficiente para completar a travessia.
- Senhor, posso sugerir respeitosamente que façamos explodir a ponte para evitar a perseguição?
- Já está a ser tratado. - O Lorde Moira apontou para o rio, e Arthur viu alguns engenheiros a colocarem barris de pólvora nos pilares a meio da extensão da ponte. - Estarão
prontos muito em breve. Explodiremos as cargas no momento em que os seus homens tenham atravessado.
- Muito bem, senhor.
- Bem, não há tempo a perder, Wesley. Regresse para junto dos seus homens e comece a retirar.
Arthur fez continência e deu meia volta ao cavalo.
- O mais depressa que possa, Wesley! - gritou-lhe o general.
Cavalgou com rapidez por entre as companhias da 33ª na vanguarda
e parou na guarda recuada. A uma curta distância atrás deles, os hussardos franceses tinham abandonado os cavalos e lutavam como escaramuceiros, avançando de casa em casa,
para poderem disparar sobre as fileiras dos casacas-vermelhas em retirada. Fitzroy dera permissão aos homens para dispararem à vontade, e o ar fervilhava com o silvo e o estouro
dos disparos das armas de fogo portáteis. Arthur desmontou e fez sinal com a mão para Fitzroy se aproximar.
- Leva o meu cavalo e segue para a ponte. Quero todas as companhias menos esta dentro dos edifícios na outra margem do Anhelm. Têm de providenciar fogo de cobertura quando
nós chegarmos à praça do mercado. Percebeste?
Fitzroy anuiu.
- Então, vai.
Arthur virou-se para a sua guarda recuada e olhou para além dela, para os hussardos franceses, abaixados nos cantos dos edifícios para mais depressa poderem disparar as armas,
antes de desaparecerem para as recarregar; embora não tão depressa que não recebessem tiros de resposta da linha de defesa britânica. Enquanto olhava, um dos hussardos saiu
do esconderijo e atravessou a rua a correr em diagonal. Quase chegava ao outro lado; mas, de repente, parou com uma convulsão e foi atirado para trás, quando alguns dos homens
de Arthur atingiram o alvo. Arthur assentiu com crua satisfação, convicto de que este exemplo iria ajudar a desencorajar os hussardos de perseguirem os casacas-vermelhas com
muito entusiasmo. Não havia necessidade de manter a companhia em formação face à ameaça limitada que aqueles hussardos representavam.
- Abandonar fileiras e recuar!
Os soldados logo se encostaram aos lados da rua, fazendo fogo e recarregando, abrigados, à medida que iam sobriamente cedendo terreno ao inimigo. Arthur empenhou-se muito
em não mostrar medo, obrigando-se a permanecer bem visível, enquanto caminhava apressada mas ponderadamente para a ponte. Ao chegarem à praça do mercado, ordenou aos homens
que parassem. Os engenheiros ainda estavam a preparar as cargas, e o último dos vagões passava mesmo à justa na ponte estreita. Uma mão-cheia de homens de um dos outros regimentos
estava a defender a praça do mercado das aproximações a sul. Ouviam-se constantemente colisões estridentes e telhas quebradas a caírem no chão, porque uma bateria francesa
nos arredores de Ondrecht continuava a bombardear o coração da aldeia. Na outra margem do rio, Arthur já distinguia os chapéus negros e casacas-vermelhas dos seus homens a
assumirem posições nas casas que ladeavam a outra banda. Logo que a última carroça começou a percorrer a rua do outro lado da ponte, Arthur voltou-se para os homens.
- Retirar! Retirar!
Os casacas-vermelhas debruçaram-se sobre os mosquetes, recuaram para a praça do mercado e dispararam os últimos tiros contra os hussardos que se aproximavam, antes de se virarem
e acelerarem na direcção da ponte. Arthur desembainhou a espada e seguiu no meio deles, sentindo as botas a rasparem nas pedras da rua enquanto corria. Um grito de triunfo
elevou-se da rua atrás deles, e, virando-se, Arthur viu os hussardos a avançarem, em perseguição aos casacas-vermelhas. Ao ver a companhia de Arthur a recuar, a mão-cheia
de homens do outro regimento, ainda a disparar contra o inimigo a sul, começou a retirar. Foi então que um dos oficiais deles, um tenente, parou e apontou.
- Infantaria inimiga! Ali! - Voltou-se para os homens. - Mantenham posições, raios!
Porém, já demasiados corriam para a ponte, para que a autoridade dele se pudesse impor ao sentido de autopreservação que eles possuíam. Fosse como fosse, instantes mais tarde,
ouviu-se um estrondo, e um disparo de artilharia raspou o empedrado da rua a uma curta distância à frente do tenente, passou ao lado dele e atingiu uma parede num ângulo oblíquo.
Uma chuvada de fragmentos de pedra partida, afiados como lâminas, atingiu o oficial. Ele gritou e caiu de joelhos, agarrando com as mãos a cara, cuja carne fora desfeita em
pedaços.
- Os meus olhos! - gritou. - Os meus olhos!
Arthur fez menção de se dirigir a ele, mas antes de dar meia dúzia de passos, o tenente foi atingido por um tiro da infantaria inimiga que se aproximava da praça. Mergulhou
para a frente e estatelou-se no chão, onde tremeu um momento e depois ficou imóvel. Arthur contemplou-o horrorizado, até que um dos seus soldados delicadamente lhe pegou no
braço e o puxou na direcção da ponte.
- Venha, senhor. Na pode fazer nada por el' agora.
Arthur assentiu; bruscamente, desviou os olhos do oficial caído e juntou-se aos homens na corrida para a ponte. Ao cruzarem os cantos das ruas, apercebeu-se de silhuetas esbatidas,
em casacas azuis-escuras, que corriam para a praça, e de balas de mosquete que voavam pelo ar ou estilhaçavam o empedrado do chão: eram os franceses a tentarem cortar a retirada
aos casacas-vermelhas em fuga. Depois, Arthur chegou à ponte de pedra coberta de musgo de ambos os lados até à altura da cintura. Parou e virou-se para trás, acenando aos
derradeiros dos seus homens para passarem e depois lá foi correndo atrás deles, no momento em que os primeiros homens da infantaria francesa se precipitavam para a praça e
começavam a correr para a ponte.
- Por amor de Deus, Wesley! - Lorde Moira, atrás de uma carroça na outra margem, fez-lhe sinal com a mão para avançar. E espetava o dedo na direcção dos pilares da ponte.
- Corra, homem! Os rastilhos já estão a arder!
Arthur encolheu a cabeça, com uma mão calcou o chapéu, para o manter apertado, e correu para se abrigar na casa mais próxima. Chegando à ombreira de pedra, meteu-se para dentro
o mais que pôde e olhou para trás, para a ponte. Por cima da superfície em lomba, viu os chapéus com cocares e a bandeira tricolor do inimigo, na outra margem. Então, houve
um enorme clarão de encandear, um rugido profundo e estrondoso, e ele foi atirado para trás, contra a porta de madeira adornada, por uma das ondas de choque, quando os barris
de pólvora debaixo da ponte explodiram. O lance
central da ponte pareceu elevar-se intacto, por um instante, antes de explodir em fragmentos que se alçaram no ar, foram projectados em todas as direcções e começaram a cair
no chão, cobrindo a área com uma chuva de detritos. Com o barulho da detonação a desvanecer-se rapidamente, houve um momento de pausa, com homens de ambos os lados a contemplar
a cortina de fumo e pó a rolar sobre os restos da ponte. Depois, o primeiro tiro foi disparado, houve resposta, e seguiu-se um contínuo estampido de balas de mosquetes, com
os dois lados recomeçando a luta. Mas a batalha estava mais do que terminada. Uma fenda de seis metros de largura escancarava-se por cima do rio atulhado de detritos; os britânicos
estavam, de momento, salvos.
A coluna saiu da aldeia e prosseguiu a marcha em direcção a Antuérpia. Durante um bocado, a artilharia francesa continuou a assediá-los, da outra margem do Anhelm, mas só
tiveram um mão-cheia de baixas e o eixo de um vagão de mantimentos estilhaçado, que prontamente foi incendiado e abandonado pelo condutor.
Quando a cauda da coluna chegou ao cimo de uma colina, a pouca distância da aldeia, Arthur olhou para trás, para Ondrecht, durante alguns minutos, e ponderou acerca do seu
baptismo de fogo. De repente, sentiu-se cansado. Cansado, mas enlevado. Ele havia feito frente ao fogo inimigo e conseguira sobreviver. Olhou para os homens do seu regimento,
que passavam por ele a marchar pela estrada fora. Riam-se e comentavam, muito excitados, sem dúvida a gabar-se dos seus feitos. Por instantes, teve a tentação de mandar o
sargento-mor calá-los, mas resistiu ao impulso. Deixá-los gozar o momento de triunfo. Seria bom para o moral e, além disso, tinham-no merecido.
Capítulo 83
Setembro de 1794
O contra-ataque em Boxtel tinha sido desastroso, como Arthur esperara. Vários regimentos espalhados pelos campos alagados em redor da vila fortificada tinham avançado, rastejando
sob cobertura da escuridão, para reconquistar a cidade aos franceses. Mas as ordens para o ataque não tinham tido em consideração a questão da coordenação de esforços, e cada
unidade avançara por iniciativa própria, logo que a troca de tiros inicial entre escaramuceiros tinha começado. O resultado foi um ataque a conta-gotas, que o inimigo não
tivera dificuldade em conter e em repelir, com pesadas baixas para o lado britânico. O general Sir Hugo Wilson não fez qualquer tentativa para recuperar o controlo do assalto
e recusara abortar o ataque, mesmo
muito depois de estar claro que tinha sido um falhanço desastroso. Quando o pálido brilho da aurora cobria a paisagem, os atacantes finalmente retiraram de Boxtel, deixando
o chão em frente às suas defesas coberto com casacas-vermelhas mortos ou moribundos. O general Wilson e os seus ajudantes tinham-se simplesmente afastado da zona para estabelecer
um novo posto de comando, a distância segura do inimigo; era o que afirmavam, pelo menos. Wilson deixara ordens para que o resto das suas forças recuasse até à sua posição,
o melhor que pudesse.
Com a primeira luz do dia, os franceses saíram das suas defesas, escorraçando os casacas-vermelhas com facilidade, e o general deles, possuindo toda a coragem e iniciativa
que tão claramente faltava a Sir Hugo, passou de imediato à ofensiva, empurrando os britânicos para trás. A Arthur tinha sido confiado recentemente o comando de uma brigada,
que consistia na 33ª e na 42ª infantarias, que cobria a retirada dos camaradas, à medida que eles iam desaguando na estrada de Boxtel.
Houve uma breve pausa na luta, uma hora antes de amanhecer, e Arthur cautelosamente cavalgou em frente, para verificar se havia algum sinal do inimigo. Ao trotar a cavalo
sobre a verde erva ao lado da estrada, para abafar o som dos cascos, viu que o caminho estava atulhado de equipamento e armas abandonadas. Aqui e ali, homens feridos tentavam
desesperadamente escapar ao inimigo e juntar-se aos camaradas. Os que já não se conseguiam mexer, permaneciam deitados, à espera, totalmente à mercê dos revolucionários, cuja
reputação de executantes de atrocidades era conversa recorrente entre os aliados. Nada havia que Arthur pudesse fazer por eles, e tentou ignorar os pedidos de socorro que
alguns lhe gritavam, quando passava por eles a examinar a estrada à sua frente, procurando sinais da presença do inimigo.
Este encontrava-se, segundo os melhores cálculos que podia estimar, mil e quinhentos metros à frente da brigada. Arthur parou o cavalo e pegou no seu óculo. Esticou-o e espreitou
pela lente. Nada. Continuou a procurar, enquanto a sua mente começava a reflectir acerca do progresso abismal que tinha sido conseguido naquela campanha até então. A escaramuça
em Ondrecht tinha dado o tom aos meses que se seguiram. Depois de Lorde Moira se ter juntado ao duque de York, nos arredores de Antuérpia, tinha ocorrido uma retirada a seguir
à outra. Os falhanços de oficiais superiores a toda a hora pareciam combinados com a desorganização e corrupção endémica das corporações de homens que era suposto apoiarem
e fornecerem o exército britânico. O duque de York, que comandava o exército, era apenas três anos mais velho do que Arthur, e embora tivesse algum talento e boas intenções,
simplesmente não possuía a motivação necessária para fazer o que era preciso para salvar os seus homens dos efeitos da corrupção
e da incompetência. Arthur franziu o sobrolho. Deus do Céu! Isto não era maneira de travar uma guerra. De todo. A este ritmo, era como se o senhor Pitt lhes desse uma mãozinha
e oferecesse aos revolucionários a cabeça do Rei Jorge numa bandeja.
Havia movimento na estrada à frente dele, e, quando apontou o óculo para o local, Arthur viu a testa de uma coluna de infantaria a emergir de uma pequena colina arborizada,
situada entre ele e Boxtel. Um oficial cavalgou para a frente, para assumir posição à testa da coluna, e Arthur sorriu com o adorno de cordões dourados que o homem ostentava
na sua casaca. O que os comandantes franceses não possuíam em refinamento, mais do que compensavam em vaidade. Esperou um momento até que as primeiras parelhas de cavalos
emergissem do bosque, puxando um canhão. Mas não havia sinal da cavalaria. Ainda não, pelo menos. Muito bem, Arthur anuiu para os seus botões. Ele iria assumir a sua posição
com a brigada nos terrenos que escolhera, logo que o Sol raiasse. Com sorte, conseguiriam empatar os franceses o tempo suficiente para o resto do exército se reagrupar. Encolheu
o óculo, tornou a colocá-lo no alforge e deu meia volta à montada.
O pequeno grupo de oficiais do comando virou-se ao ouvir o som de um cavalo a aproximar-se. Meia hora antes, o coronel deixara-os com ordens para dividirem a brigada em duas,
metade para cada lado do cruzamento, antes de se afastar a cavalo pelo caminho pantanoso cheio de sulcos, em direcção ao inimigo. Os homens tinham formado em linha, e agora
as densas fileiras de casacas-vermelhas encrespavam-se pelas terras de pastagem ondeadas, de cada lado da junção. O coronel tinha escolhido bem o local: o flanco esquerdo
estava ancorado numa extensão de pólder macio e o direito encostado a um denso bosque de ulmeiros num pequeno outeiro. Se os franceses viessem, não conseguiriam usar a sua
cavalaria para flanquear a linha britânica. Em vez disso, seriam forçados a lançar um assalto frontal, se quisessem quebrar a barreira. À frente da linha britânica, o chão
descia em declive e desaparecia no espesso nevoeiro que rolava por cima do pólder e atravessava a estrada.
Os casacas-vermelhas aguardavam em silêncio, com as extremidades de madeira dos mosquetes pousadas no chão. Após a dura marcha que haviam empreendido para alcançar a sua presente
posição, os corpos tinham aquecido, e agora um fino vapor leitoso do bafo dissipava-se, espreguiçando-se por cima dos chapéus negros.
Os oficiais continuaram a olhar fixamente para a proveniência do som do cavalo a aproximar-se; abruptamente, a figura materializou-se no nevoeiro. O coronel Wesley esporeava
a montada na direcção deles. A égua tinha galopado bastante, e os flancos dela estavam salpicados de espuma.
Ele puxou as rédeas e deslizou com rapidez da sela para o chão, entregando as rédeas ao seu ordenança.
- Alguma informação do comando central?
O capitão Fitzroy deu um passo em frente.
- Não, senhor. Nada.
Arthur olhou para trás, pela estrada abaixo.
- Raios...
Logo que recebera informação acerca da aproximação da coluna inimiga, na véspera, tinha enviado um jovem subalterno a galope ao comando central, a pedir reforços e alguma
artilharia para apoiar a retaguarda do exército. O comando teria recebido a mensagem algumas horas antes da alvorada, e, no entanto, não havia qualquer sinal de casacas-vermelhas
a marchar ao seu encontro, nem mesmo nenhuma confirmação de que a mensagem tinha sido recebida. Arthur cerrou os dentes, furioso com mais esta prova de incompetência dos que
comandavam a força expedicionária. Isto, por cima do falhanço de não ter recebido quaisquer abastecimentos para os seus homens, nos últimos três dias. Eles tinham sido forçados
a requisitar toda a comida que puderam dos habitantes locais, e agora os holandeses daquela zona odiavam os casacas-vermelhas ainda mais do que os invasores franceses. Os
seus homens estavam esfomeados, eram odiados e, pior de tudo, faltavam-lhes munições. Tinham apenas o suficiente para fazer face a uma escaramuça insignificante e depois seriam
forçados a retirar ou a fugir.
O capitão Fitzroy tossiu, e Arthur fitou-o irritado.
- Sim?
- Senhor? Os franceses? Estão a aproximar-se?
- Oh, sim, claro que estão. Estarão aqui dentro de meia hora.
Fitzroy baixou a voz, antes de prosseguir.
- Com que forças, senhor?
Arthur obrigou-se a sorrir.
- Com forças que chegam para nos conceder a oportunidade de mostrarmos aquilo de que esta brigada é capaz. - O sorriso desvaneceu-se. - Uma divisão integral é a minha estimativa.
Com uma bateria de artilharia móvel, no mínimo. Mas sem cavalaria. Pelo menos, não a avistei antes de regressar.
O grupo de oficiais entreolhou-se ansioso. Embora a 33ª tivesse tido o seu baptismo de fogo em Ondrecht, essa fora a única luta em que tinham estado envolvidos. Os homens
da 42ª eram quase todos recrutas recentes, a maior parte deles preferindo a vida da tropa, não obstante toda a dura disciplina e perigos, aos intermináveis labores de ter
de amanhar a subsistência no campo, na sua terra natal. Também havia carteiristas, caloteiros e outros
criminosos entre os desgraçados que esperavam nas fileiras silenciosas, que se estendiam para ambos os lados da junção. Mais uma vez, Arthur interrogava-se se eles conseguiriam
manter a posição. Tanta coisa dependia disso. Não apenas a vida deles e a reputação dele. A falta de abastecimento e de apoio pouco contariam aos olhos dos que julgariam o
jovem coronel. Tudo dependeria dos oficiais e soldados da brigada se manterem firmes e porem em acção todas as lições que lhes tinham sido ensinadas durante os últimos meses.
O momento da verdade viria para todos eles quando a coluna maciça do inimigo, espicaçada pelo insistente rufar dos tambores, rolasse pela encosta abaixo na direcção dos casacas-vermelhas.
- Parece que finalmente vais ter o que desejavas, Arthur - murmurou Fitzroy. - Uma batalha comandada por ti.
- Sim. - Arthur virou-se rapidamente e acenou ao contramestre da brigada para se aproximar. - Hampton! Aqui, homem!
- Senhor!
O oficial entroncado correu até ele, e Arthur notou o cheiro a álcool no seu hálito quando o homem se perfilou em frente ao seu coronel.
- Ainda há gin nos vagões?
Hampton fez um sorriso trocista e assentiu com um pouco de ênfase amais.
- Muito, senhor.
- Óptimo. Distribua uma medida aos homens, de imediato. Quero-os com fogo na barriga quando avistarem os franciús.
- Sim, senhor. E uma medida para o senhor também?
Ao inverso de todos os outros oficiais da brigada, o coronel abstinha-se de álcool, um facto que tinha provocado considerável divertimento e curiosidade aos seus subordinados,
que regularmente se embebedavam até cair, com a mesma facilidade com que respiravam. Arthur estava bem inteirado da estranheza deles e tinha-a como uma prova mais da condição
caótica em que se encontrava o exército britânico. Embora aceitasse que a ralé que compunha as praças necessitasse de beber, os cavalheiros que a comandavam deviam permanecer
sóbrios e alerta em face do inimigo. Apercebeu-se que Hampton ainda o fitava e estalou os dedos.
- Mexa-se, homem!
- Sim, senhor!
O contramestre fez continência e afastou-se a correr em direcção ao pequeno comboio de carroças alinhado junto à estrada, além do cruzamento, gritando pelos ajudantes que
se encontravam a descansar encostados aos vagões, fumando cachimbo. Os homens, relutantes, endireitaram-se em resposta ao chamamento do contramestre e seguiram-no, de ombros
caídos. Fitzroy inclinou-se para Arthur.
- Gin? Será sensato?
- Sensato? - O coronel encolheu os ombros. - Duvido que lhes faça mal, e, pelo menos, servirá para os distrair enquanto esperamos. Tudo para que não pensem no inimigo, hein?
Fitzroy olhou para baixo, para as mãos enregeladas e esfregou-as, de modo a aquecer os seus longos dedos.
- Como queira, senhor.
Os ajudantes do contramestre começaram a percorrer as fileiras de cada companhia. Cada um transportava um barril de gin debaixo do braço e fazia uma breve pausa para deitar
uma medida em cada uma das canecas de metal amachucado, que lhe eram estendidas com avidez. Arthur observou com desdém como a maioria dos seus homens engoliu a aguardente
de um só trago. Só muito poucos a sorviam, segurando as canecas, pensativos, enquanto fixavam os olhos na direcção de onde os franceses iriam em breve aparecer.
De repente, um dos batedores, que mal era visível no limite do nevoeiro, virou-se e colocou uma mão em cone à roda da boca.
- Cavalaria! A cavalaria aproxima-se!
Por um instante, os oficiais petrificaram, e Fitzroy ergueu uma sobrancelha e fitou o seu coronel.
- Nada de cavalaria, hein?
- Não a vi em parte alguma - ripostou Arthur, antes de encher o peito de ar e gritar as suas ordens. - Chamem os batedores! Brigada!... Atenção! Preparar para receber a cavalaria!
Capítulo 84
As ordens foram transmitidas ao longo das linhas pelos ásperos berros dos sargentos das companhias, e os casacas-vermelhas apressadamente engoliram o resto do gin e meteram
as canecas amachucadas nas mochilas, antes de agarrarem nos mosquetes em diagonal, em frente do corpo, e de esperarem pelas ordens seguintes.
Arthur fez uma pausa para poder pensar. Tinha muito pouca da preciosa pólvora para gastar com a cavalaria. Tinha de a guardar para a infantaria. Como a cavalaria não podia
flanquear os britânicos, seria possivelmente desencorajada por um brilhante arvoredo de frio metal.
- Preparar baionetas!
A ordem foi berrada ao longo da brigada inteira, e uma companhia após outra retiraram as longas lâminas das bainhas e aplicaram-nas nas pontas dos mosquetes. Mesmo com o barulho
do encaixar e do bater sucessivo desta manobra a preencher o ar frio da madrugada, Arthur ainda
conseguia escutar os primeiros sons do inimigo a aproximar-se: o troar de cascos a rolar, seguido da batida metálica das fivelas dos equipamentos de cada cavaleiro; todos
esses barulhos ligeiramente abafados pela névoa. Os homens que tinham estado de serviço como batedores corriam pela colina abaixo em direcção aos camaradas, deitando olhares
ansiosos por cima dos ombros, para trás, enquanto aceleravam. Atrás deles, o som do inimigo a aproximar-se aumentava de volume e enchia o ar sereno.
- A qualquer momento - murmurava um alferes atemorizado, perto de Arthur. - A qualquer momento.
Arthur virou-se para trás e disparou um olhar aniquilador sobre o
rapaz.
- O senhor, aí! Silêncio!
O alferes baixou o olhar e ficou a contemplar as botas enlameadas. Então, uma voz gritou nas fileiras.
- Aí vêm eles!
Os cavaleiros na vanguarda irromperam da neblina. Usavam sobretudos cinzentos desabotoados, por cima das casacas verdes e vermelhas, botas de cano alto de couro e capacetes
cobertos de oleado.
- Dragões - murmurou Fitzroy.
- Nada que nos cause uma preocupação excessiva - respondeu Arthur, calmamente. - Estão demasiado leves para nos apanharem. De qualquer forma, podemos mostrar-lhes que não
estamos a brincar. Os homens que avancem as baionetas.
O capitão Fitzroy gritou a ordem, e ao longo de toda a brigada, a fileira da frente baixou os mosquetes, inclinando-os, de forma a apontar as pontas cintilantes das baionetas
aos dragões. Os franceses tinham ficado momentaneamente surpreendidos com a rapidez imprevista com que tinham encontrado os casacas-vermelhas. Porém, o comandante deles logo
havia recuperado a concentração e começou a gritar uma série de ordens. A medida que os seus homens emergiam da névoa, foram-se dividindo para cada lado da estrada e formaram
em frente à linha britânica, a duzentos metros.
- Certamente não irá carregar? - perguntou Fitzroy.
Arthur abanou a cabeça.
- A não ser que o homem seja louco varrido. Não, ele apenas nos quer manter aqui, enquanto envia uma mensagem ao seu general. De momento, estamos salvos.
- E depois?
Arthur olhou de lado para o seu adjunto e amigo.
- Tem fé, Richard. Mal os nossos rapazes lhes dêem uma metralhada, eles pularão que nem coelhos.
- E se não o fizerem?
- Fá-lo-ão. Confia em mim.
Durante um bocado, os dois lados confrontaram-se em silêncio. Depois, um dos dragões deu uns gritos, e vários dos seus camaradas apoiaram. Os outros repetiram a palavra de
ordem, e rapidamente toda a linha inimiga gritava e assobiava de escárnio.
- Que estão eles a dizer, senhor? - perguntou um dos alferes.
- De Lacy, não sabe nada de francês? - Arthur sorriu. Ele sabia que De Lacy se abstinha de aprender, tanto quanto ele se abstinha de beber. - Eu podia traduzir, não fosse
o embaraço que causaria a ambos. Contente-se em saber que não é nada próprio para os ouvidos de um cavalheiro.
O capitão Coulter da companhia de granadeiros foi ter com o seu coronel, marchando apressado. Coulter, não obstante os seus modos rudes, sabia o suficiente da língua do inimigo
para ficar ofendido, e os seus olhos cuspiam fogo de indignação.
- Coronel? Quer que eu puxe os meus rapazes um passo à frente e mande uma rajada nos sacanas?
- Não, Coulter. Deixe-os gastar o fôlego. Enquanto não nos atacarem, tenha paciência.
- Mas, senhor!
Arthur ergueu um dedo, mandando-o calar.
- Capitão, agradeço que regresse à sua posição.
Coulter inflamou-se por instantes e respirou com fúria; depois, virou-se e regressou para junto dos homens. Alguns dos casacas-vermelhas tinham começado a gritar insultos
como resposta às provocações do inimigo, e Arthur voltou-se para eles, furioso.
- Calem a boca! Isto é o raio do exército, não é uma taberna de Dublin. Sargentos, tomem nota dos nomes!
Os soldados ficaram imediatamente silenciosos e limitaram-se a fixar o olhar nos dragões, quando homens com caras de poucos amigos e divisas em V nas mangas percorreram rapidamente
as fileiras em busca de desobedientes. Arthur acenou com a cabeça em sinal de aprovação, quando um dos sargentos começou aos berros na cara de um homem e terminou a admoestação
com um murro certeiro no nariz. A cabeça foi projectada para trás, e um jacto de sangue esguichou do nariz do homem e escorreu pela cara abaixo. Uma lição dura mas necessária.
Arthur ficou convencido de que o homem respeitaria a disciplina na próxima vez.
Os insultos cessaram abruptamente, e Arthur rapidamente voltou a atenção para o inimigo. Os dragões estavam a rodar, trotaram para a sua direita e formaram em frente ao bosque
que protegia o flanco britânico. Quase ao mesmo tempo, os primeiros homens da infantaria francesa emergiram
da neblina que se dissipava e marcharam direitos ao centro da linha britânica. Ao lado da coluna, cavalgavam o general inimigo e os seus ajudantes, que pararam logo que tiveram
uma visão clara do terreno. O comandante francês colocou os homens a cerca de cento e cinquenta metros dos casacas-vermelhas, antes de dar ordem para parar. Mais ordens se
seguiram, e os oficiais à testa da divisão começaram a dispor os homens ao longo da estrada, até que a coluna se expandiu até à espessura de uma companhia.
Fitzroy olhou em volta para a linha britânica com apenas duas fileiras de espessura.
- Senhor, deveríamos trazer para aqui as companhias dos flancos?
- Porquê?
- Para reforçarmos o centro, senhor. Os homens não vão conseguir aguentar quando aquela coluna atacar.
- Não terão de o fazer - respondeu Arthur calmamente. - Não vai chegar a isso. Talvez estejam ali cinco ou seis mil homens. Mas não mais de cem conseguirão apontar-nos os
mosquetes, Fitzroy. Ao inverso, cada um dos homens da nossa brigada conseguirá disparar. E poderemos recarregar muito mais depressa do que eles. Duvido que se aproximem o
necessário para o uso da baioneta.
O capitão Fitzroy olhou para o amigo, surpreendido. O coronel parecia extremamente seguro de si, como se o desfecho da batalha vindoura já pertencesse ao passado. Havia um
toque de arrogância no tom de voz dele, que excedia até a sua habitual altivez aristocrática. Fitzroy sentiu um toque de gelo na parte de trás do pescoço, ao ter o pressentimento
de que ele, o seu amigo e a maior parte dos casacas-vermelhas, que ali aguardavam quedos e silenciosos, poderiam estar todos mortos antes de a manhã terminar.
- Arthur...
- Silêncio! Acho que o inimigo vai movimentar-se.
Um grito estridente elevou-se da coluna francesa, e um instante mais tarde os tambores rufaram muito perto das companhias na vanguarda. Um oficial de uniforme decorado com
cordões dourados fabulosamente berrantes, desembainhou a espada e moveu-a em arco, de forma a que a sua ponta ficasse em linha com o coração da brigada britânica. Arthur estava
montado a cavalo e, com os seus oficiais ajudantes a rodeá-lo e a bandeira hasteada atrás dele, presumiu que a espada do francês apontava directamente para ele. Sorriu e murmurou.
- Ora, eles que tentem.
De imediato, a coluna francesa espraiou-se para a frente, com baionetas em baixo, sob as faces carrancudas dos homens da fileira da frente. O passo era lento, como tinha de
ser, devido ao fraco nível de treino que era característico da maior parte do exército revolucionário.
Arthur estava ciente de que o que lhes faltava em treino era colmatado pelo que possuíam em espírito e que era por isso que precisava de os parar antes que pudessem partir
para a carga. Ao mesmo tempo, dada a falta de munições, cada rajada britânica tinha de ser eficiente. Isto significava aguentar a ordem de disparo até ao derradeiro instante
possível, de modo a maximizar o impacto da chuva de chumbo britânico e a assegurar que cada bala tivesse as melhores hipóteses de atingir o alvo. Iria ser uma coisa muito
à justa, decidiu. Respirou fundo e colocou uma mão em cone, à roda da boca.
- À minha ordem, a brigada vai preparar para disparar! Fileira da frente: preparar!
Ao longo da linha, os comandantes das companhias colocaram-se atrás dos homens, e os canos negros dos mosquetes Brown Bess foram avançados, tendo como alvo a testa da coluna
inimiga que progredia. Quando tal viu, a vanguarda francesa pareceu parar um instante; logo, o oficial deu um grito estridente de encorajamento e exibiu mais uma vez a sua
espada cintilante aos casacas-vermelhas. A coluna atirou-se para a frente de novo, não mais de a cem metros de distância.
Arthur fez um esforço para permanecer sentado imóvel e para contemplar o inimigo sem que qualquer expressão pudesse ser lida no seu rosto. No interior, sentia o coração a
acelerar com excitação e terror e, no entanto, face a toda aquela tensão e perigo, estava surpreendido por se encontrar supremamente satisfeito e feliz. Nesse momento, não
havia lugar algum na Terra onde ele mais desejasse estar. Uma imagem de Kitty Pakenham surgiu na sua mente, e sentiu-se minimamente recompensado, no caso de morrer naquele
dia: a dor da sua perda seria uma pequena vingança por ela ter recusado casar com ele. De imediato, excluiu o pensamento da sua cabeça.
- Engatilhar armas!
Um coro de estalidos soou ao longa da linha, com os homens a puxarem os martelos de disparo dos mosquetes com os polegares; o som quase foi abafado pelo rufar estrepitoso
dos tambores que marcavam o pas de charge. Agora já se encontravam a oitenta metros, e Arthur conseguia ver as expressões carregadas nos rostos dos homens da frente. Quando
estava a olhar, um deles ergueu o mosquete e disparou. Houve um clarão, uma nuvem de fumo e o som do estalar de um chicote, quando a bala passou a pouca distância por cima
da cabeça de Arthur. Ao lado dele, Fitzroy estremeceu.
- Dá a ordem, Arthur.
- Ainda não.
A coluna continuou a caminhar em frente, e agora os casacas-vermelhas podiam ver a massa infindável de uniformes azuis a estender-se até à
zona onde as fileiras inimigas eram devoradas pela neblina. Arthur muito agradecia que o resto permanecesse fora da vista dos homens. Mais tiros foram disparados da testa
da coluna, e a primeira baixa do recontro deu um grito agudo e tombou no chão, não muito longe de Arthur.
- Quietos, rapazes! - gritou ele, com a voz mais calma que conseguiu arranjar. - Não disparem!
Com o inimigo a aproximar-se mais dez metros, Fitzroy não se conteve.
- Por amor de Deus, Arthur! Dá a ordem.
- Cala-te idiota! - sussurou ele em resposta. - Controla-te, homem!
Esperou mais um momento e depois ergueu o braço com firmeza.
- Preparar!
O grito ecoou ao longo da linha. Houve um momento de silêncio, e até os franceses se prepararam para a primeira rajada.
- Fogo!
Em pouco mais de um segundo, centenas de martelos de disparo bateram nas chaminés das armas provocando a ignição das cargas dentro dos longos canos dos mosquetes. Clarões
alaranjados foram cuspidos das bocas das armas, e um lençol de fumo branco esvoaçante cobriu o espaço imediatamente em frente ao exército britânico. No seu ponto vantajoso,
em cima do cavalo, Arthur pôs-se de pé nos estribos e viu as fileiras da frente da coluna francesa a desintegrarem-se, com os homens a serem atingidos num vasto leque, e os
soldados que vinham atrás a pararem de imediato. Por milagre, o oficial pesadamente enfeitado sobreviveu à rajada, mas o seu chapéu com cocar foi arrancado da cabeça e projectado
dez passos para trás, até cair no chão. Por instantes, ficou demasiado petrificado para reagir; depois, virou-se para os seus homens e ordenou-lhes que prosseguissem por cima
dos corpos dos camaradas mortos e feridos. Atrás deles, os tambores rufaram o toque de marcha, e a coluna avançou de novo.
No lado britânico, não se tinha perdido tempo, e, logo que a primeira rajada fora disparada, os homens na fileira da frente começaram a recarregar os mosquetes. Pegaram num
cartucho de papel, mordendo a extremidade e guardando uma fracção da pólvora para a chaminé de disparo, antes de deitarem o resto pelo cano abaixo e o empurrarem com a vareta.
Depois carregavam a bala pela boca da arma e empurravam-na também. Os veteranos eram os mais rápidos e ficavam prontos em menos de vinte segundos.
- Fileira de trás, pronta! - gritou Arthur e esperou que a ordem fosse repetida pela linha fora. - Fogo!
A segunda rajada estourou e de novo paralisou a coluna francesa, a
não mais de vinte metros; tão perto, que Arthur conseguiu distinguir cada detalhe quando uma bala atingiu um homem na cara: a cabeça dele a ser projectada para trás, no meio
de uma bruma vermelha. Arthur instantaneamente afastou a imagem da cabeça e berrou a ordem seguinte:
- Fogo por companhias!
O impacto devastador das duas primeiras rajadas maciças dava agora lugar ao fogo cerrado, que rolava e ondeava ao longo da linha britânica, com quase nenhum intervalo, e às
balas pesadas que progressivamente iam estraçalhando as fileiras avançadas da coluna inimiga. Só uma mão-cheia de tiros foi disparada em resposta, e Arthur estava satisfeito
ao constatar que apenas um pequeno número dos seus tinha sido abatido.
- Continuem, rapazes! - gritava Fitzroy ali perto, com a voz embargada de excitação. - Continuem!
Por cima da nuvem acre de pólvora queimada, Arthur viu que a estrada à sua frente estava pejada de corpos vestidos com uniformes azuis. E o oficial inimigo continuava a sobreviver,
embora uma bala lhe tivesse raspado a cabeça, e uma torrente de sangue escorresse pela face abaixo e salpicasse as bandas brancas do seu uniforme. Gritava aos seus homens
para carregarem, mas como cada vaga de assalto tinha dificuldades em ultrapassar o amontoado crescente de corpos no solo, os soldados ficavam de movimentos tolhidos e eram
atingidos, aumentando os obstáculos. Mais de cem homens jaziam mortos ou moribundos, e mesmo assim os outros continuavam, gritando, com coragem irracional, enquanto se atiravam
contra os canos dos mosquetes dos casacas-vermelhas. Arthur estava pasmado com a coragem suicida dos revolucionários. Tinham de ser doidos, disse para os seus botões. Só a
loucura podia fazer com que homens escolhessem tal punição. E eles continuavam a vir. E continuavam a morrer; às dezenas de cada vez.
Por fim, o charmoso oficial francês deixou de conseguir desafiar as terríveis probabilidades a que estava sujeito, e duas ou três balas atingiram-no no peito e projectaram-no
para o chão. A sua espada rodopiou para o lado, antes de a ponta se espetar no terreno mole e ficar a balançar de um lado para o outro, por instantes. Um grunhido elevou-se
das fileiras francesas e, de repente, já não avançavam para tomar o lugar dos camaradas mortos e feridos. Como o fogo avassalador dos britânicos continuava a atingi-los, a
infantaria francesa começou a recuar um passo de cada vez, no início; depois, recuaram mais apressados; até que a coluna retrocedeu pela encosta abaixo e se desintegrou numa
massa sem forma, nas orlas do banco de nevoeiro. Os tambores calaram-se.
- Cessar-fogo! - gritou Arthur. - Cessar-fogo, raios!
Levou um bocado até que a ordem percorresse a linha e fosse apli-
cada pelos sargentos; até que o estampido dos tiros de mosquete se desvanecesse. Após os terríveis ruídos das rajadas, caiu um súbito silêncio sobre o campo de batalha, apenas
cortado pelos gemidos e gritos dos feridos que se contorciam sem forças no meio dos cadáveres amontoados, a uma curta distância adiante da linha britânica. A paixão e excitação,
que tinha ardido nas veias de Arthur momentos antes, converteu-se em vergonha e nojo ao contemplar a carnificina, por entre o fumo a dissipar-se. Ele não tivera ideia de que
poderia ser assim. Tantos homens bravos, nos seus belos uniformes, estropiados e desfeitos. Sentiu-se a desmaiar naqueles segundos e desviou o olhar bruscamente. Para além
da pilha de corpos, ele conseguia ver o general francês e os seus ajudantes a analisar a situação. O choque deles era palpável, mesmo à distância. Por um momento, ficaram
imóveis. Depois, o general ergueu uma mão e tirou o chapéu à linha britânica, antes de dar meia volta ao cavalo e se afastar, seguido pelos seus homens, desaparecendo no nevoeiro.
- Meu Deus! - disse Fitzroy em voz baixa. - Conseguimos. Fizemos com que retrocedessem.
- Por enquanto - replicou Arthur. - Eles regressarão. Da próxima vez, podes ter a certeza de que usarão a artilharia, antes de enviarem uma coluna contra nós. - Ele virou
a cabeça e olhou para o baixio, por trás da linha britânica. - Se ao menos tivéssemos um monte ou um terreno acidentado para abrigar os homens. Isso e mais uma ou duas brigadas
e alguma artilharia; então, poderíamos aguentá-los aqui indefinidamente.
- Estás a pedir a Lua, Arthur - disse Fitzroy, com azedume. - Estamos por nossa conta. Por isso, é melhor abandonarmos este local, antes que os franciús corram connosco.
- Sim - anuiu Arthur, não conseguindo disfarçar o desapontamento. - Diz ao Coulter que fica com a retaguarda. Temos de recuar até ao comando central. É tudo o que podemos
fazer agora. Mesmo assim - matutou, ao fitar o cadáver do oficial inimigo estendido de costas -, foi muito instrutivo. Deveras instrutivo.
Fitzroy fitou-o e depois riu-se.
O coronel empertigou-se na sela.
- O que poderá ter assim tanta graça?
- És tu, Arthur!- Fitzroy controlou a sua histeria, agora que estava ciente de ter picado o orgulho do amigo. - Peço desculpa. É que, por vezes, tens uma maneira peculiar
de reagir aos acontecimentos: Deveras instrutivo! Oh, Arthur! Qualquer pessoa pensaria que estás num pátio de recreio de escola, não num campo de batalha.
O jovem coronel fitou-o com seriedade, por um momento.
- Há mais verdade nisso do que tu imaginas.
Capítulo 85
Os casacas-vermelhas foram implacavelmente rechaçados, para além do Meuse e do Waal, onde finalmente construíram uma linha de defesa que nem o entusiasmo feroz dos exércitos
revolucionários conseguia levar de vencida. Ali, os exaustos soldados britânicos permaneciam sentados nos acampamentos e vigiavam o inimigo, que se encontrava do outro lado
da larga bacia do rio. O núcleo central do exército francês virou depois para leste, perseguindo as forças austríacas e empurrando-as para além do Reno, hasteando a bandeira
tricolor na cidade de Colónia. Não obstante a notícia de tal derrota, os britânicos só podiam mesmo sentir-se aliviados por o poder das forças inimigas ter sido transferido
para o assalto aos coitados dos austríacos. Era estranho, matutava Arthur, que ele próprio o sentisse: uma sensação de satisfação por os seus aliados estarem a ser castigados
pela lentidão em dar luta aos franceses e pelo abandono voluntário do duque de York e dos seus homens. Ao mesmo tempo, a situação global afigurava-se desesperada para os aliados,
embora de aliados agora só tivessem o nome. A disputa diplomática quanto à ajuda com que a Grã-Bretanha devia contribuir e os desentendimentos acerca dos eventuais despojos
de guerra persistiam, embora atrás de uma derrota viesse outra.
Uma tristeza, de facto, reflectia Arthur, enquanto procedia à inspecção matinal à brigada, que se espraiava numa série de pequenos fortes e bastiões, ao longo de uma das margens
do Waal. Os seus homens estavam cansados e muito sujos. Embora não tivessem tido de marchar para lado nenhum nos últimos dois meses, estavam em alerta constante para qualquer
tentativa de os franceses atravessarem o Waal e tinham sido chamados para fora das tendas e abrigos cada vez que o alarme soava, tocado por uma sentinela nervosa. Os abastecimentos
de comida eram raros, e, mesmo quando aconteciam, as rações eram sempre pequenas, ou a carne e as bolachas estavam a apodrecer e mal se conseguiam comer. Os homens do Royal
Waggon Corps estavam a ter uma bela guerra à conta disto, traficando os melhores abastecimentos e vendendo-os nos mercados negros de Haia e Amesterdão. Entretanto, Arthur
e os seus homens passavam fome. A maior parte dos oficiais conseguia arranjar maneira de se alimentar bem, mas ele passava o que os seus homens passavam e fazia com que o
soubessem. O resultado era confiança e lealdade, um raro artefacto nos regimentos dispostos ao longo da margem do Waal.
Quando Arthur chegou a cavalo ao forte comandado pelo capitão Fitzroy, um par de sentinelas ergueu-se da pequena fogueira ao lado do portão e pôs-se em sentido. Arthur fez
continência, quando passou no meio delas. Do lado de dentro do portão, o forte era um mar de lama. Num
lado, um soldado, de tronco nu, estava ocupado a cortar tiras de carne de uma carcaça de cavalo, atirando os pedaços para dentro de alguidares de madeira. Ali perto, outros
soldados alimentavam os fogos por debaixo de caldeirões a fumegar. Nenhum acusou a chegada do comandante, e, por instantes, Arthur considerou ir até lá e exigir o respeito
devido. Em circunstâncias normais, ele faria disto um assunto disciplinar. De facto, ele insistia sempre na prática do procedimento apropriado em cada circunstância. Mas hoje,
o frio cinzento e húmido drenava o espírito de todos, e Arthur agora compreendia bem como alguns exércitos se desmoronavam em circunstâncias semelhantes, se deixados a vivê-las
por tempo demasiado. Portanto, ignorou-os e dirigiu a montada através do pântano peganhento até aos abrigos de madeira, que tinham sido erigidos por detrás do baluarte. Serviam
de alojamento a Fitzroy e de comando às duas companhias da guarnição. Arthur desmontou, calcando a lama, e prendeu as rédeas na cerca que rodeava os abrigos. Afastando a cortina
de couro pendurada na entrada, inclinou-se e entrou.
Um sargento veterano estava a trabalhar numa pequena secretária, à luz de uma lanterna; ergueu-se de imediato e pôs-se em sentido, quando viu o coronel.
- Onde está o capitão Fitzroy?
- No exterior do forte, senhor. - O sargento apontou para o lado oposto ao portão principal. - A jogar críquete.
Arthur riu-se.
- A fazer o quê?
- A jogar críquete, senhor. Onze oficiais e sargentos contra cabos e praças.
Arthur fitou o homem por um momento e depois abanou a cabeça.
- Críquete... Não será certamente a estação ideal para ele.
- Fo'isso mesmo qulhe disse, senhor.
- Compreendo. Muito bem, pode voltar ao seu trabalho, sargento.
- Sim, senhor.
Arthur virou-se e saiu do abrigo; encaminhou-se para o baluarte e depois seguiu ao longo do passeio em direcção ao lado mais distante, onde uma pequena porta falsa fortificada
se destacava. A sua esquerda, o baluarte mergulhava na corrente de águas de aparência oleosa do rio Waal, que dançava preguiçoso ao passar junto ao forte. A quinhentos metros
de distância, na outra margem, encontrava-se um posto de observação francês: uma torre de madeira frágil, onde estava um soldado embrulhado num casaco. Quando Arthur olhou,
o homem tirou o chapéu e acenou com ele um cumprimento.
- Maldita impertinência! - murmurou Arthur, recusando-se a res-
ponder e acelerando o passo. Adiante dele, ouviu-se um grito inesperado e depois um coro de vivas. Ao chegar ao canto do forte, Arthur já conseguia ver alguns homens com casacas
vermelhas espalhados num lameiro rústico cercado de vedações. Num dos cantos do terreno, umas poucas vacas olhavam, enquanto pastavam. O capitão Fitzroy falava muito a sério
com um jovem alferes. Segurava nas mãos um bastão de críquete como se fosse um machado de lenhador. No outro lado, estava um cabo, com um sorriso trocista, atirando a bola
casualmente ao ar e apanhando-a em seguida, com a mesma mão.
- Estou a dizer-lhe! - Fitzroy falava em voz alta. - Aquilo foi claramente uma bola não válida.
O alferes abanou a cabeça.
- Desculpe, senhor, a bola foi atirada como deve ser. O senhor está fora do jogo.
- Raios, senhor! O braço do homem não estava esticado quando a atirou.
- A bola foi válida. E, se me é permitido dizê-lo, é de mau desportista discutir com o árbitro. E agora, pode ter a bondade de abandonar o campo, senhor?
Fitzroy esbugalhou os olhos em resposta e parecia estar prestes a explodir de fúria, quando viu o seu coronel a caminhar ao longo do baluarte em direcção à porta falsa.
- Pronto, raios vos partam! - Fitzroy deu a volta ao bastão e entregou-o com o cabo virado para o árbitro. - Mas isto não vai ficar assim, Partridge.
Atravessou o campo, direito a uma pilha de casacos, agarrou num e acelerou o passo na direcção do forte; encontrou-se com o seu comandante quando Arthur emergia da porta falsa.
- Bom-dia, senhor. - Fitzroy fez continência, enquanto se enfiava dentro do sobretudo.
- Bom-dia - respondeu Arthur, acenando com a cabeça. - Que significa isto?
- O críquete? Pensei que faria bem ao moral e manteria alguns homens ocupados durante um dia. Não há muito mais para fazer.
- Não - admitiu Arthur, lançando um olhar desconfiado à paisagem plana. - Tenho para mim que a Holanda no Inverno é o mais próximo que um homem poderá estar da visão do Purgatório.
Fitzroy riu-se, entredentes.
- Não deve andar muito longe da verdade, senhor.
Arthur retribuiu com um sorriso; depois, a sua expressão tornou-se mais séria.
- Como vão as coisas?
- Nada bem. Os homens vivem de meias rações, e já dei ordens para se começar a comer os animais de carga mais fracos. Temos tão pouco feno para eles também; pelo menos, que
sirvam para alguma coisa. Há algum sinal de que os abastecimentos estejam para chegar?
- Não. Absolutamente nenhum. - Arthur puxou a gola do seu sobretudo para cima. - Ontem fui ao comando central para ver o que está a causar este atraso. A vinte e cinco quilómetros
do Waal. - Abanou a cabeça. - É outro mundo. O general e os ajudantes têm uma casa confortável, com terrenos bem tratados em redor, com lareiras em todas as salas, bons vinhos,
a melhor comida que se pode ter neste país, bem como as pegas mais bonitas.
As sobrancelhas de Fitzroy ergueram-se, primeiro com surpresa e depois com inveja.
- Aposto que aqueles preguiçosos passam os dias a fornicar.
- Sem dúvida. Mas parece ser efectivamente a única coisa que eles fazem. Falei com o chefe do Serviço de Abastecimentos, quando o consegui afastar de uma moça airosa. Disse-lhe
do que precisávamos. Ele disse que trataria do assunto, o mais depressa possível. O que significa que teremos sorte se recebermos mais algumas rações antes do Natal.
- Natal! - Fitzroy abanou a cabeça e praguejou em voz baixa. - Duvido que haja algo mais do que esqueletos neste forte, nessa altura. É claro que - apontou com a cabeça para
as vacas - podemos sempre comê-las.
- Não. Está fora de questão. Tu conheces as ordens recentes do duque: tribunal marcial para quem for apanhado a saquear propriedade holandesa.
- Só uma vaquinha - implorou Fitzroy. - Dizemos aos habitantes que fugiu para o rio e foi levada pela corrente.
- Não. Nem brinques com isso.
- Quem está a brincar?
- Chega! - Arthur fez um gesto de impaciência com a mão. - E agora diz-me, que forças tens?
- Esta manhã, cinquenta e três efectivos. Dezoito inaptos para o serviço, dos quais doze têm febre tifóide e não passam desta semana. Coloquei-os numa tenda, num dos cantos
do forte, para os manter afastados dos outros homens. Portanto, nem tenho metade das forças que devia ter. Deus nos ajude se os franceses atacarem.
- Não o farão. Não com o Waal de permeio entre eles e nós.
- E se as águas gelam? Que fazemos?
- Se isso acontecer? - Arthur abanou a cabeça lentamente. - Bem, poderão atravessar e conquistar o que resta da Holanda. Claro que qualquer exército normal ficaria aquartelado
durante o Inverno e esperaria pela
Primavera. Mas os franceses? Sinceramente, não sei. Eles estão a travar um novo tipo de guerra, e bem podem prosseguir com a ofensiva, mal consigam atravessar o Waal. Portanto,
é melhor rezarmos para que o Inverno seja ameno.
- Eu rezo, mas já está um frio do diabo, e juro que está a piorar de dia para dia.
- Sim - concordou Arthur desanimado. - De uma forma ou de outra, este Inverno pode ser a nossa morte. Metade dos homens está doente de mais para lutar, todos estão esfomeados
e (ainda não sabes a pior de todas as novidades) o governo mandou retirar sete regimentos da Flandres e destacou-os como reforços ao exército das índias Ocidentais.
Fitzroy abanou a cabeça perplexo.
- Mas isso é uma insanidade completa! Já estamos em inferioridade numérica, mesmo agora. Sete regimentos? É de doidos. Aliás, cairão que nem tordos, mal se instale a febre-amarela.
- Talvez. Mas, se permanecerem aqui, morrerão como todos nós: de frio, de fome e de abandono.
- Abandono? Sim. Acho que tens razão - matutou Fitzroy. - Recebi uma carta da minha irmã, na semana passada. Ela diz que os jornais de Londres praticamente ignoram os acontecimentos
na Flandres; quase como se fôssemos um embaraço. Apenas umas poucas organizações andam a recolher casacos e cobertores para nos serem enviados neste Inverno. Podes crer: é
quase como se tivéssemos sido esquecidos. O exército esquecido. Somos nós.
Arthur encostou-se à paliçada e acenou com a cabeça na direcção da outra margem do Waal.
- Talvez. Mas aqueles tipos ali não se esqueceram de nós, e, quando o tempo chegar, só espero que ainda tenhamos forças para lhes darmos alguma coisa para que não nos esqueçam
no futuro.
Fitzroy fitou-o e riu-se entredentes.
- Sempre profissional.
- Profissional? - Arthur franziu o sobrolho. A sua classe social tinha tendência a encarar esse termo como pejorativo. Mas, concedeu, Fitzroy tinha razão. Ser militar era
uma profissão. Tinha mesmo de o ser, se a Grã-Bretanha queria sobreviver à anarquia sangrenta da revolução. A triste situação do exército na Flandres era prova ampla do falhanço
de um sistema que punha comissões à venda e que confiava em contratadores privados para abastecimento dos soldados em campanha. A avareza de tais homens certamente destruiria
o país, a não ser que a guerra fosse conduzida com mais profissionalismo. Com esse fim, com essa vitória final, estava Arthur comprometido. Portanto, decidiu, era um soldado
profissional. Triste era que tantos outros oficiais não o fossem. Fitou Fitzroy e sorriu. - Tanto se pode ser excelente na tropa como em qualquer outra coisa.
- Senhor, eu não queria ofendê-lo. A verdade é que eu tenho sorte em estar sob o seu comando. E isso aplica-se a todos nós aqui. Já ouvi os homens a dizerem o mesmo.
- Bem, sim... - As palavras enrolaram-se-lhe estranhamente na boca, e ele empertigou-se e deu uma olhadela ao interior do forte. - Bem, tenho de ir. Ainda tenho de visitar
vários fortes. Pareces ter as coisas em ordem por aqui, Fitzroy.
- Sim, senhor.
Fitzroy não pôde deixar de sorrir perante o desconforto do seu superior face ao pequeno elogio que lhe fizera. Homens inferiores tê-lo-iam tomado por garantido.
Arthur tossiu. Apontou para os homens que ainda jogavam críquete, no meio de um coro dividido de assobios e elogios.
- É melhor regressares ao jogo. Parece que a tua equipa acabou de perder outro wicket.
- O quê? - Fitzroy virou-se bruscamente. - Raios! Com licença, senhor.
Fez continência rapidamente e marchou apressado até junto dos seus homens.
Arthur contemplou-o por uns momentos, ainda a ponderar as suas palavras. Embora dissesse para si próprio que Fitzroy era um tonto que sobrestimava a sua competência, não pôde
deixar de sentir o calor luminoso da satisfação por os homens se terem afeiçoado a ele.
Ao caminhar de volta, ao longo do baluarte, a sentinela francesa, na outra banda, acenou-lhe novamente com o chapéu. Arthur hesitou por instantes e depois, com um sorriso
divertido, tirou o chapéu por breves momentos; sem parar, desceu para o interior do forte e regressou ao local onde prendera o cavalo.
Capítulo 86
O Inverno prosseguiu austero, com ventos frios e chuva gelada varrendo a Holanda, de tal modo que os homens descobriram ser quase impossível manter as roupas secas. Viviam
em perpétuo desconforto na humidade fria, com a fome a devorar-lhes as entranhas. O Natal chegou e partiu, como se fosse uma paródia aos homens de boa-vontade, e depois, no
início do ano, a temperatura desceu como uma pedra atirada a um poço. Com o começo dos primeiros gelos, a lama do chão transformou-se quase em rocha ao redor
das rodas dos carros das armas e dos vagões de abastecimentos, de modo que nada se conseguia mover. A neve caía, rodopiando, vinda do norte, e em poucas horas tinha coberto
a paisagem com uma grossa camada de branco fulgurante, que obliterava quase todas as formas e acidentes do terreno. Os homens macambúzios do exército britânico, enrolados
nos sobretudos e cachecóis, patrulhando as margens do Waal, pareciam figuras miniatura numa vasta tela branca. Só as pequenas lufadas de vapor provocadas pelo bafo revelavam
que eram seres vivos. Alguns já não respiravam; tinham morrido de frio nos seus postos, após a força e vontade de viver os terem abandonado, e terem sucumbido às garras geladas
do pior Inverno de que os vivos guardavam memória.
No dia a seguir ao Natal, a superfície do Waal começou a gelar. No Ano Novo começou a ficar mais consistente, e Arthur sabia que, numa questão de dias, o gelo estaria suficientemente
espesso para homens, cavalos e até canhões atravessarem com segurança. Deu ordens para as sentinelas e patrulhas serem dobradas e cada dia inspeccionava a superfície do rio
e discretamente marcava os locais onde o gelo era mais espesso. Houve dias em que viu oficiais franceses a testar o gelo na outra margem, e cada vez se aventuravam mais pelo
rio adentro.
Depois, numa manhã, após Arthur ter terminado um frugal pequeno-almoço de pão seco e porco salgado, um mensageiro chegou do comando central. O homem estava ofegante e tinha
neve agarrada às botas, quando foi conduzido ao celeiro que servia de comando a Arthur:
- Saudações do general, senhor. O inimigo começou a atravessar o
Waal.
A notícia não foi recebida com nenhuma surpresa por Arthur, nem pelos seus oficiais. Estavam à espera disso, e Arthur estava preparado para enfrentar o perigo de cabeça fria.
Indicou o mapa estendido na mesa.
- Mostre-me onde.
O mensageiro, um alferes que aparentava ser demasiado novo para tal campanha, inclinou-se sobre o mapa e apontou para um local a vinte quilómetros da brigada de Arthur, na
direcção da foz.
- Ali.
- Qual é a situação?
- Senhor, o comando central só recebeu relatórios preliminares, mas parece que os franceses estão a atravessar em força.
- Quais são as nossas ordens?
- O general quer que recue, afastando-se do rio, e que forme para lhes atacar o flanco.
- Atacar-lhes o flanco? - Arthur sentiu o coração a ficar pesado.
- Atacar com quê? Os meus homens são menos de um terço da força nor-
mal. Os que sobreviveram não estão em condições de atacar. Além disso, quais são as intenções dele para o resto do exército?
- Não sei - admitiu o alferes. - Mas eu ouvi-o dizer alguma coisa acerca de formar uma nova linha recuada quinze quilómetros do Waal, enquanto os franceses consolidam a sua
testa-de-ponte.
- Eles não vão esperar para consolidar seja o que for - respondeu Arthur em voz baixa. - Não é assim que eles fazem a guerra. Veja - afastou-se para o lado, para permitir
que o alferes pudesse ver o mapa mais de perto. - Vão dirigir-se aos portos na costa. Tenho a certeza. Se capturarem Haia e Amesterdão, então ficaremos sem acesso ao que resta
dos nossos abastecimentos. Seremos forçados a render-nos, ou a deixar a Holanda e retirar para norte, para Munster. Na nossa presente condição, duvido que consigamos chegar
tão longe. - Fez uma pausa para pensar. - A nossa única hipótese é chegarmos aos portos antes deles. Percebe a situação?
- Sim, senhor. Acho que sim.
- Então, tem de explicá-la ao general. Vá a galope para o comando central. O mais depressa que possa. Vá!
O mensageiro fez continência e saiu do celeiro a correr.
Arthur chamou o pequeno grupo de ajudantes e ditou ordens para a brigada abandonar os fortes e formar no caminho que seguia do rio em direcção à distante cidade de Amesterdão.
Os homens deveriam transportar todas as rações que ainda existissem e todas as munições que pudessem carregar. Todo o resto era para ser queimado, incluindo as carroças. Nenhum
animal de carga ficaria para trás. Se houvesse animais feridos, seriam transportados e, em caso de necessidade, abatidos e consumidos em rações, à medida que a brigada fosse
avançando.
Com a manhã a chegar ao fim, o som do disparo de canhões, vindo de oeste, ressoou através da paisagem coberta de neve. Pouco antes do meio-dia, o pessoal do comando havia-se
juntado às primeiras unidades que aguardavam no caminho: uma linha decrépita de espantalhos envoltos em farrapos, aguardando as ordens com cansaço apático. Custava a acreditar
que estes eram os mesmos homens que haviam enfrentado os hussardos em Ondrecht e que tinham coberto a retirada do exército em Boxtel. Agora tinham de estar preparados para
lutar outra vez. Porém, ao contemplá-los, Arthur sabia que pouco ânimo guerreiro restava dentro deles. Tudo o que desejavam era sobreviver. Contudo, ele tinha ordens para
atacar o flanco inimigo. A derradeira das companhias exteriores marchou pesadamente e tomou o seu lugar na linha que se estendia ao longo da estrada, e a brigada ficou pronta
para avançar. Uma brigada apenas no nome, reflectia Arthur, enquanto tremia de frio dentro do sobretudo. O frio penetrava-lhe directamente no corpo, de modo que já não havia
vestígios de calor em nenhu-
ma parte; gradualmente, a rigidez à volta do peito foi cedendo, as tremuras pararam e apenas a dor provocada pelo frio permanecia. Fosse como fosse, não havia mensagem alguma
do general, nenhuma decisão para abortar o ataque, e Arthur decidiu que teria de prosseguir. Por mais tola e irracional que a ordem para atacar pudesse ser, era uma ordem,
e ele estava obrigado a cumpri-la. Pigarreou, e deu a ordem.
- A brigada vai avançar! Companhias ligeiras para a frente!
As ordens foram repetidas pela linha fora, soando curiosamente secas naquele ar parado e gelado. Os homens das companhias ligeiras chegaram-se à frente e dispersaram-se em
cobertura, cem passos à frente do corpo principal, onde sargentos e oficiais orientavam as fileiras antes de assumirem as respectivas posições, aguardando a ordem para iniciar
a marcha. Quando tudo estava pronto, Arthur contemplou pela última vez a brigada integral, o seu primeiro e, muito provavelmente, último comando. Em poucas horas, a maior
parte estaria morta, estendida na neve, a gelar.
- Senhor! - gritou Fitzroy. - Cavaleiro aproxima-se, vindo de norte.
Arthur virou-se, olhou e instantaneamente distinguiu a negra mancha a aproximar-se da brigada. Um adiamento, seria isso? O cavaleiro aproximava-se, e ele não deu a ordem para
avançar; os homens permaneceram imóveis, em silêncio, com os olhares vazios e fixos em frente. O cavaleiro galopou ao longo da retaguarda da linha, levantando pedaços de neve
no ar, e depois parou, ao aproximar-se do coronel e dos seus porta-estandartes. Era o mesmo mensageiro de antes, que fez uma rápida continência, antes de atirar com a mensagem.
- A sua brigada deve retirar.
- Apresente o seu relatório como deve ser, senhor! - disparou Arthur.
O alferes ergueu as sobrancelhas, surpreendido; conseguiu controlar a sua excitação, respirou fundo e começou de novo.
- O general envia cumprimentos, senhor. Requer que a brigada retire para norte. O exército está a marchar a toda a velocidade para Amesterdão.
- Assim está melhor - anuiu Arthur. - É vital que se comporte como um oficial em todas as ocasiões. Os homens estarão a observá-lo nos dias vindouros, e não deve ser encontrado
em falta. Percebido?
- Sim, senhor.
- Deduzo que os franceses estão também de partida para Amesterdão.
- Sim, senhor. Enviaram a infantaria à frente, enquanto a cavalaria persegue a nossa coluna.
- Há quanto tempo partiram os franceses?
- Logo que atravessaram o rio, senhor.
- Meu Deus! Devem ter meio dia de avanço sobre nós.
O alferes assentiu.
- Assim sendo, marcharemos de imediato. Um bom dia para si... e boa sorte.
- E para o senhor também.
O cavaleiro deu meia volta ao cavalo e partiu de novo, a galope, na direcção de Amesterdão.
Logo que as companhias ligeiras retomaram as respectivas posições, a brigada formou numa coluna de marcha e partiu na mesma direcção, calcando pesada e desordenadamente a
neve, até que, à distância, parecia pouco mais do que uma centopeia a vaguear.
A retirada através da Gelderland quase destruiu o exército. Atormentados pela fome e a doença, marcharam quilómetro após quilómetro com os pés gelados. Alguns quilómetros
a oeste, as colunas do exército francês também corriam para a costa, e cada homem, em ambos os exércitos, estava desesperado por ganhar a corrida. O prémio para os franceses
era não apenas a vitória no terreno, mas também a hipótese de destruir o exército britânico de tal forma que a Grã-Bretanha já não tivesse estômago para prosseguir a guerra.
Sem os subsídios providenciados pelos cofres britânicos, os austríacos e prussianos não poderiam continuar a lutar. O prémio para as estafadas tropas britânicas era a mera
sobrevivência e a perspectiva de muitos mais anos de guerra. Com tal disparidade nas apostas, era inevitável que os franceses ganhassem a corrida. Uns dias após a retirada
do Waal ter começado, Arthur recebeu a notícia de que os franceses tinham entrado em Amesterdão, no dia 20 de Janeiro, juntando a esses louros a captura da frota holandesa,
presa no gelo em Texel.
Chegou a ordem para mudança de direcção. Cortado o acesso aos portos, o exército tinha de marchar para norte, para Ysei. A derradeira ração tinha sido consumida dias antes,
e, cada manhã, o coração de Arthur ficava mais pesado, ao constatar que as forças da sua brigada estavam cada vez mais sumidas.
Primeiro foram os feridos, caídos em miseráveis montículos nas bermas dos caminhos gelados, à espera que o frio os reclamasse como seus. A rota da marcha era fácil de seguir,
marcada como estava com equipamento abandonado e corpos de homens e animais. Pedaços de carne tinham sido cortados destes últimos, pelos homens que passavam, e consumidos
crus. O cavalo de Arthur teve o mesmo destino na quarta noite, quando as suas forças se esgotaram. Ele próprio deu um tiro na cabeça do animal e entregou
o corpo aos homens para talharem. Ao vê-los a dilacerar a carcaça, Arthur nunca imaginara que tal sofrimento fosse possível, tal colapso dos valores civilizados que tomara
por garantidos.
Quando a brigada se aproximava de Ysel, ao fim da tarde, o som de disparos chegou até eles, vindo da frente. Arthur parou a coluna e avançou só com Fitzroy. Quinhentos metros
à frente, uma amarga escaramuça estava a ser travada entre homens de um regimento dos guardas e mercenários de Hesse, por causa do conteúdo de um vagão capotado, cheio de
pão, que tinha sido descoberto na berma da estrada. Os dois oficiais contemplaram horrorizados como homens que haviam lutado sob a mesma bandeira agora se esfaqueavam e golpeavam
uns aos outros, com a fúria e o desespero de animais selvagens. Quando Arthur não aguentou mais o espectáculo, puxou a manga do amigo:
- Anda. Temos de encontrar um caminho que contorne isto, se não queremos que os nossos homens se envolvam.
Fitzroy não respondeu, e quando Arthur se virou para ele, reparou que o capitão olhava fixamente para um monte de trapos numa vala, na berma da estrada. Os olhos de Fitzroy
deitaram chispas. Arthur largou-lhe o braço, aproximou-se dos trapos e, então, viu o que realmente eram. Uma mulher jovem, pouco mais que uma rapariguinha, estava deitada
enrolada, como se fosse uma bola. O corpete estava aberto, e o peito nu era tão branco e brilhante como a neve que a rodeava. Agarrado ao peito tinha um pequeno embrulho,
um bebé, e nos lábios azuis dele brilhava o leite gelado que sugara da mãe. Arthur sentiu uma onda de agonia e desespero a percorrê-lo. Se havia um inferno, tinha de ser aquilo.
Desviou bruscamente o olhar da rapariga morta e do seu bebé e, pegando no braço de Fitzroy, caminhou lentamente de volta para junto dos seus homens.
No início de Março, o que restava do exército perfilava-se no cais de Bremen, sob os silenciosos e hostis olhares dos habitantes do porto. Todo o sentido de laço comum na
guerra contra a França tinha desaparecido, e os antigos aliados culpavam-se agora mutuamente pelos falhanços no campo de batalha. Quando Arthur inspeccionou os sobreviventes
esfarrapados da brigada, viu que muitos deles eram homens abatidos que de pouco serviriam ao seu país nos anos vindouros. Regressariam às suas casas no campo, ou nos bairros
pobres das cidades, e sobreviveriam com dificuldade na sombra daquela terrível experiência. Mas havia outros: homens fortes, que erguiam a cabeça e recusavam ceder ao sofrimento
por que tinham passado. Ao contemplá-los, Arthur sentiu-se grato que a sua terra pudesse produzir tais soldados, porque a Grã-Bretanha iria certamente precisar deles nos próximos
anos. Com esse pensamento, olhou-os de novo, desta feita com
pena. Havia tantos mais que teriam de sofrer até que a nação deles pudesse eventualmente triunfar. E quando tudo terminasse, e a paz regressasse ao mundo, quantos deles restariam
para ver esse dia?
Uma frota britânica de navios de guerra estava ancorada ao largo do porto, tendo-lhe sido negada autorização de entrada pela capitania do porto de Bremen. E assim, as barcaças
dos navios tinham de percorrer o longo trajecto até ao cais, para irem buscar os sobreviventes do exército. Arthur e Fitzroy embarcaram no último barco que transportou a brigada
para os navios que a levariam de volta a Inglaterra. Os marinheiros não demonstraram nenhuma da habitual rivalidade entre homens de diferentes ramos militares; em vez disso,
trataram-nos com a compaixão própria de velhos amigos, metendo-lhes bolachas de água e sal e canecas de cerveja nas mãos, enquanto os conduziam para as zonas aquecidas e abafadas
sob o convés do navio. Arthur permaneceu junto à amurada por um bocado, contemplando a terra, enquanto os marinheiros içavam as barcaças e as colocavam nos seus descansos
e preparavam o navio para zarpar.
- Coronel Wesley?
Arthur virou-se e viu o comandante do navio a aproximar-se, vindo da popa. Apertaram as mãos, e depois o comandante acenou com a cabeça na direcção do derradeiro soldado a
ser levado para o interior do navio.
- Eu tinha ideia de que levaríamos mais pessoal vosso de Bremen para casa. Onde está o resto do exército?
Arthur esboçou um sorriso.
- É tudo o que resta. O resto perdeu-se.
- Perdeu-se? - O comandante abanou a cabeça. - Que desperdício. Imagino o que vão dizer em Inglaterra! Tem de haver repercussões.
- Espero que sim. Não poderemos tornar a tomar parte noutra campanha desta forma.
- Sim, pois, claro que não. - O comandante sorriu e deu uma palmada amigável no braço de Arthur. - De qualquer forma, está tudo acabado.
Arthur abanou a cabeça. Sentia-se velho, cansado e derrotado. Mas, mesmo agora, o seu coração ardia com a ânsia de vingar aquela derrota. Tinha sobrevivido ao pior que a guerra
lhe poderia trazer. Tinha visto o rosto da batalha, testemunhado os angustiantes tormentos da retirada e sofrido com a ineficiência sem coração e a corrupção daqueles que
tinham desgovernado a campanha. Tinha sobrevivido a tudo isso e sabia, com toda a certeza de uma convicção religiosa, que era um soldado e que tinha um dever. Um dever muito
mais sagrado do que qualquer outra coisa que tivesse experimentado na sua existência até então. Tinha de lutar para salvar o seu
486
país e, se necessário, morrer ao serviço dele. Virou-se e olhou o comandante do navio na cara.
- Acabado? Não, está enganado. Mesmo muito enganado. Isto está apenas no começo.
Epílogo
O passar de pés com botas calçadas, de patas de cavalos e de rodas de carruagens do lado de fora da janela em nada provocava a distracção de Henry Arbuthnot do trabalho que
efectuava. Tinha-se acostumado de tal forma ao tráfego em circulação que a janela não era para ele mais do que uma fonte de iluminação. Arbuthnot tinha passado os últimos
cinco anos a trabalhar neste grande gabinete, na cave de uma casa anónima em Whitehall, alugada pela Presidência do Governo. A renda, tal como o resto das despesas deste departamento,
era ocultada do escrutínio do parlamento. De facto, muito poucas pessoas tinham conhecimento da existência deste departamento, e as restantes pouca atenção prestavam à empresa
descrita num letreiro pequeno, cuidadosamente pintado, como Companhia do Comércio de Produtos Orientais. Esta obscuridade agradava a Arbuthnot, dado que o trabalho do departamento
era mais bem conduzido se tivesse a máxima discrição possível. Muito poucos dos oficiais superiores do exército e da marinha tinham conhecimento algum das actividades do departamento,
o que era irónico, reflectia Arbuthnot para os seus botões, vista a frequência com que as suas ordens eram determinadas pelo resultado dos relatórios produzidos pelo departamento
para o senhor Pitt, primeiro-ministro, e o seu ministro da Guerra.
Em cada dia, os subordinados de Arbuthnot percorriam os jornais estrangeiros, os despachos das embaixadas e mensagens codificadas de agentes espalhados pelo mundo conhecido:
uma imensa quantidade de pormenores, que tinha de ser escrutinada para que fosse retido qualquer pedaço de informação com valor para todos os que traçavam a política britânica
e também para os que faziam com que o rumo dessa mesma política fosse suavizado, através de subornos, sabotagens, desinformação e, ocasionalmente, assassínios, discretamente
levados a cabo.
Uma pequena parte do trabalho do departamento consistia em fornecer a análise da campanha militar das forças britânicas, bem como das dos aliados e inimigos dos britânicos,
com o propósito de identificar formas de melhorar a eficácia operacional, mesmo que isso implicasse engolir o orgulho nacional e roubar ideias a outras nações. Não que essas
ideias fossem implementadas com frequência, pensava Arbuthnot, com tristeza. Os preconceitos de políticos e oficiais seniores eram muitas vezes obstáculos
ao melhoramento da prestação dos homens que enviavam para a guerra. Assim, as vitórias do departamento nesse campo eram raras e esparsas, e Arbuthnot tinha-se resignado a
uma filosofia gradual, ao colocar pedaços de informação perante os superiores até que compreendessem o assunto com propriedade que chegasse para poderem reclamar as ideias
como suas. Por mais frustrante que isso pudesse ser, pelo menos assegurava que as decisões certas fossem tomadas num número de vezes superior às vezes em que eram rejeitadas.
Embora na maior parte das vezes fosse demasiado tarde, e não a tempo e horas. Mas o departamento tinha de trabalhar no mundo real, onde a racionalidade era a pobre segunda
prima do oportunismo político.
Parte da análise da actividade militar feita pelo departamento destinava-se a providenciar informação aos oficiais envolvidos. Servia para conhecer as forças e as fraquezas
dos homens que lideravam os exércitos no presente e dos que os liderariam no futuro, se sobrevivessem às fortunas da guerra. Em concordância, milhares de ficheiros eram guardados
na secção de arquivos, nas caves do edifício, organizados por nacionalidade e com índices por patente e especialidade. Com o início de uma nova guerra na Europa, o departamento
de Arbuthnot tinha aberto resmas de novas pastas nos meses recentes, e algumas tinham sido recentemente concluídas e entregues a Arbuthnot para aprovação, antes de serem colocadas
no arquivo.
Ele tinha passado toda a manhã a trabalhar nelas, e, mesmo na altura em que a quantidade de informação e de análise lhe tinha começado a pesar, tinha descoberto um ficheiro
que lhe prendeu a atenção, talvez porque Arbuthnot tinha pessoalmente supervisionado o estudo efectuado ao desastre de Toulon. O nome do oficial já lhe era conhecido dos esboços
preliminares dos relatórios dos agentes em França, e aqui estava ele de novo: o brigadeiro Napoleão Buona Parte, ou Bonaparte, como ele próprio assinava mais recentemente.
Como Arbuthnot podia ler no ficheiro, o jovem velozmente promovido era bem mais dotado nas artes bélicas do que a vasta maioria dos seus pares. Se a guerra com a França continuasse
por vários anos, então, este homem, Bonaparte, mereceria ser observado de perto, porque poderia representar um considerável desafio às armas inglesas. Arbuthnot acabou de
ler o relatório e, depois de um momento a pensar, acrescentou uma anotação de que devia ter estatuto prioritário. De agora em diante, a carreira de Bonaparte seria seguida
de perto por olhos longe do seu novo lar em França.
Arbuthnot depressa releu os pormenores biográficos e estava para fechar a pasta, quando o seu olhar se deteve num pequeno pormenor. Nada de grande consequência, mas uma coincidência,
mesmo assim. Pegou nos ficheiros que tinha lido antes, procurando nos marcados como pertencentes
a oficiais britânicos, e encontrou o que procurava: uma pasta fina, à espera de vir a ter mais conteúdo, à medida que o seu objecto de estudo ganhasse experiência e fosse
sendo promovido.
- Coronel Arthur Wesley - murmurou Arbuthnot.
Abriu a pasta e percorreu com os olhos as breves notas na primeira página. O coronel tinha sido um dos poucos homens a emergir do desastre da Flandres com a reputação intacta.
Uma boa folha de serviço em combate, e um oficial que claramente se preocupava com os seus homens e tinha a confiança total deles. Depois, Arbuthnot encontrou a secção que
lhe fizera activar a memória.
- Nascido no mesmo ano - murmurou -, educado como aristocrata de província... o pai morreu cedo... humm...
Pôs os dois ficheiros, lado a lado. Bonaparte e Wesley. Dois jovens com um futuro consideravelmente promissor. Ambos eram precisamente o tipo de homem de que as suas nações
tão desesperadamente precisavam na luta épica que se aproximava. Arbuthnot sorriu. Se a guerra durasse muitos anos, havia todas as hipóteses de estarem mortos antes que acabasse.
Mas, se sobrevivessem, se prosperassem e ganhassem a promoção que mereciam de forma tão evidente, isso deixava em aberto a fascinante perspectiva do que poderia ocorrer se
alguma vez se viessem a encontrar no campo de batalha.
Nota do Autor
Quando se escreve acerca de gigantes históricos, como Napoleão Bonaparte e Arthur Wesley, o autor vê-se face ao contraste gritante entre o corpus monolítico, referente ao primeiro, e a cobertura bastante mais limitada, respeitante ao segundo. Quando comecei a trabalhar em Jovens Lobos, deparei-me com uma bibliografia acerca de Napoleão que ultrapassava as cem mil entradas. Os livros relacionados com Wellington não excediam uma fracção desse número. Isto é compreensível, dado que Napoleão foi, de facto, um imperador, para além de general, e teve uma carreira de estrela, graças à revolução e a uma grande ajuda da boa sorte. Tomemos, para exemplo, a tentativa idiota (de uma má avaliação incrível) de tomada da cidadela de Ajaccio. Teria merecido ser fuzilado por essa escapadela. Só que, devido à declaração de guerra à Áustria e ao pânico provocado pelas primeiras derrotas no governo revolucionário, a França não podia dar-se ao luxo de descartar oficiais promissores, treinados pela melhor escola de artilharia do mundo. E, assim, Napoleão foi poupado e promovido a capitão! Para quem deseje uma excelente apreciação da carreira deste homem extraordinário, J. M. Thompson tem publicada uma biografia óptima, intitulada Napoleon Bonaparte.
Ao inverso, Arthur Wesley nasceu na mais estável das sociedades. A Grã-Bretanha tinha conseguido a estabilidade política um século antes e gozava uma vida relativamente pacífica e próspera, ao passo que a França, enredada em divisões sociais, se precipitava para a anarquia e a sangria revolucionária. Sendo um filho mais novo (logo, supérfluo) da classe mais privilegiada da sociedade, Arthur viu serem-lhe negadas as oportunidades e desafios que podem transformar rapidamente homens comuns em homens extraordinários. A sua vida só começou a ter significado passadas mais de duas décadas de guerra com a França, que teve início após a execução de Luís XVI. Até então, pouco havia que distinguisse Arthur de qualquer outro jovem dissoluto da aristocracia. A frustração e tédio desses anos sem rumo devem tê-lo atormentado terrivelmente. Pior ainda era não estar destinado a herdar nem o título, nem a fortuna da família. Assim sendo, como poderia esperar obter a mão de Kitty Packenham, num mundo onde o casamento era tanto um meio de promoção, quanto um modo de expressar afecto? Arthur contemplava um futuro desprovido de significado e de sucesso. Tenho para mim queele foi salvo do vazio de uma não-existência pelos acontecimentos em França, que lhe mudariam a vida, bem como as vidas de todos os europeus. A sua oposição à Revolução Francesa proporcionou-lhe um objectivo, que ele reconheceu de imediato. Sabia tratar-se da sua missão na vida, excluindo todo o resto. Por isso levou a cabo aquele tão significativo acto de destruição: queimou o violino.
O melhor livro que posso recomendar acerca de Arthur Wesley é: Wellington: The Years ofthe Sword, de Elizabeth Longford, um relato sentido e muito bem escrito. Para uma interessante comparação dos dois homens, também recomendo a curiosa análise de Andrew Roberts, intitulada Napoleon and Wellington.
Estou certo de que muitos dos meus leitores estarão interessados em saber mais acerca deste período histórico fascinante e dos dois homens cujas carreiras foram forjadas pela Revolução Francesa. O melhor estudo do período revolucionário que conheço, um livro que recomendo vivamente, dada a sua acessibilidade e profundidade, é a obra-prima de J. M. Thompson, The French Revolution. É muito difícil compreender as várias correntes que marcaram os tumultuosos anos finais do século XVIII; não obstante, Thompson oferece ao leitor um relato totalmente compreensível dos locais, personagens e eventos.
Embora Jovens Lobos seja uma ficção acerca da juventude de Napoleão Bonaparte e Arthur Wesley, esforcei-me para que as pessoas, o período histórico e os acontecimentos fossem retratados o mais fielmente possível. Porém, a não ser que se escreva um volume monstruoso, torna-se quase impossível incluir todos os pormenores recolhidos na investigação.
Assim, fui forçado a omitir algumas coisas e a mudar a cronologia de alguns acontecimentos, para não prejudicar a história. Na verdade, Napoleão fez muito mais visitas à Córsega nos anos da Revolução do que as narradas, que são na história uma amálgama das ocorridas na realidade.
De igual modo, para dar mais peso às respectivas personalidades dos meus heróis, inventei certas cenas. O facto de os dois jovens se encontrarem em França na mesma altura deixou-me intrigado. Que teriam achado um do outro, se se tivessem cruzado? A hipótese era demasiado tentadora e plausível para lhe poder resistir. O primeiro encontro entre Napoleão e Robespierre é também imaginado e igualmente plausível, tendo em conta o fervor político que assolava Paris naquela época. Claro que aceito que os puristas possam discordar das minhas decisões; só que os romancistas históricos têm uma história para contar, primeiro do que tudo.
Com a Revolução já firmemente implantada, a França tornou-se numa República. Encontra-se rodeada de nações hostis, e uma grande guerra de ideologias está a ponto de deflagrar sobre os povos da Europa. Para Napoleão e Arthur, a primeira fase do conflito que mudará o mundo para sempre já começou.
Simon Scarrow
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















