



Biblio VT




Caros leitores, tem sido sempre uma de minhas praxes ganhar a sua confiança, de vez que nada tenho a esconder. Permitam-me, pois, contar-lhes como fiz este livro.
Fui escolhido como Convidado de Honra na Boskone X (nome dado a uma convenção de ficção científica realizada em Boston, de primeiro a três de março de 1974) e revelou-se que se tornara uma tradição que o comitê encarregado da convenção publicasse uma pequena coleção das obras dos convidados de honra. De sorte que mostraram todos os dentes num sorriso e solicitaram-me que preparasse alguns contos para esse fim.
E isso me colocou em apuros. Os meus contos de ficção são publicados por aquela estimada editora de grande reputação, a Doubleday & Company, e receei que parecesse ofensa aos afáveis olhos castanhos daqueles associados, se me dispusesse a escrever ficção para qualquer outra pessoa. O comitê Boskone, inteirado de minha desconfiança de que seria reduzido a picadinho por editores enfurecidos, assegurou-me que o livro que pretendiam editar seria uma edição limitada, de não mais do que quinhentos exemplares.
Em vista disso, aproximei-me de Lawrence P. Ashmead, meu editor-chefe na Doubleday, de modo diferente, e perguntei-lhe se estaria tudo bem se eu cedesse ao pedido. Ressaltei que. utilizaria apenas algumas histórias que nunca haviam aparecido em quaisquer das edições da Doubleday. Larry, a mais gentil de todas as almas, disse:
— Decerto, Isaac, vá em frente.
E fui em frente.
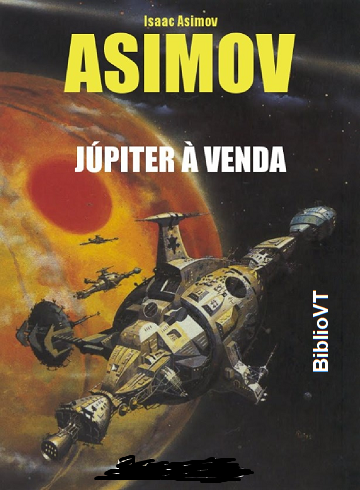
O resultado foi um livrinho intitulado Viu Isto? (The Nesfa Press, 1974), que continha oito contos. Foi planejado para estar pronto pouco antes do Boskone XI, e era esperado que centenas (ou até mais) de livros pudessem ser vendidos. Bolas, preciso dizer que os caprichos do jogo editorial tornaram inevitável que o livro não estivesse pronto para venda até um pouco depois da convenção, de sorte que, nas vendas propriamente ditas, provou ser uma edição muito mais limitada do que havia sido planejada.
Larry, todavia, estava aguardando a hora oportuna. Sua bondade inclui uma perspicácia editorial perfeita.
Disse ele eventualmente:
— Aquele livrinho já foi publicado, Isaac?
— Oh, sim — respondi com um sorriso (sempre sinto uma espécie de prazer sincero quando falo de meus livros), e a próxima vez que o vi, dei-lhe um exemplar.
Examinou-o e disse:
— É uma pena que estas histórias não tenham tiragens mais amplas. A Doubleday não poderia imprimir uma edição?
Apontei-lhe a objeção insuperável.
— Contém somente vinte mil palavras, Larry — eu disse.
Larry falou imediatamente
— Neste caso, acrescente mais histórias.
Ora, por que não me lembrei disso?
Ficou patente, efetivamente, que a Doubleday tem como propósito a eventual inclusão de todos os meus contos numa ou outra edição. Não estou plenamente convencido de que isso seja uma boa ideia, de vez que, certamente, algumas de minhas histórias não são tão boas quanto outras e, talvez, umas poucas não mereçam a imortalização.
Larry (que é mais partidário de Asimov do que eu) afastou esta possibilidade com uma gargalhada. Ressaltou que:
1) — nenhuma história parece ruim a todos os leitores;
2) — que nenhuma história de Asimov pode ser realmente ruim; e
3) — que, boas ou ruins, são todas de interesse histórico.
(O terceiro ponto me inquietou. Tenho o definitivo sentimento de que no mundo da ficção científica sou um monumento nacional e que os leitores jovens ficam sempre assombrados — e, talvez, até indignados — ao descobrirem que ainda continuo vivo.)
Por isso concordei (quem pode resistir aos brilhantes olhos de Larry?) e acrescentei histórias suficientes para elevar o total a duas dúzias. São em sua maioria histórias curtas (numa média de 2300 palavras), que não têm aparecido em nenhuma de minhas edições anteriores. Arranjei-as pela ordem cronológica de aparecimento.
Aqueles dentre vocês que leram meus livros Before the Golden Age e O Futuro Começou sabem que formam, juntos, uma espécie de autobiografia literária até 1949, ano em que vendi à Doubleday o meu primeiro livro e em seguida mudei-me para Boston a fim de integrar a classe médica da Escola de Medicina da Universidade de Boston.
Neste livro continuarei com a minha prática de acrescentar um comentário biográfico às histórias. Em parte por causa da quantidade de cartas que recebo de leitores, afirmando que o comentário é “muito mais agradável” do que as histórias. (Fico imaginando se isto é um tributo ao charme dos meus escritos, ou um insulto ao meu talento de ficcionista?) Em parte, tem em mira abrandar as pressões de determinados editores (olá, Larry), no sentido de que eu escreva uma autobiografia — de tamanho natural — discutindo cada um dos seus aspectos.
Continuo dizendo que não há nenhum aspecto, exceto o de minha máquina de escrever, e que nada jamais me sucedeu, mas isto parece soar em ouvidos moucos. Entretanto, se eu contar muito de minha autobiografia nestes livros, vocês compreendem...
Durante a maior parte da década de 1940 eu havia escrito exclusivamente para John Campbell e sua revista Astounding Science Fiction. Com efeito, fi-lo a tal ponto que fiquei nervoso com o fato de que, se alguma coisa acontecesse quer ao editor, quer à revista, a minha carreira de escritor poderia estar encerrada.
Naturalmente, eu havia vendido meu primeiro livro de ficção científica, Pebble in the Sky (827 Era Galáctica) à Doubleday, que foi publicado em 19 de janeiro de 1950, menos de três semanas antes do meu trigésimo aniversário, mas pareceu-me que mal poderia contar com ele. Não tinha certeza de que poderia repeti-lo e sentia-me financeiramente acomodado unicamente com a venda de revistas, acostumado que estava no decorrer dos primeiros onze anos de minha carreira literária.
Todavia, a década de 50 iniciou-se com uma rápida expansão do mercado de revistas de ficção científica e tornei-me rapidamente o beneficiário desse fato.
Por exemplo, uma nova revista que estava sendo planejada para 1950 e que deveria denominar-se Galaxy Science Fiction. Deveria ser editada por Horace L. Gold, cujas histórias eu tinha lido e admirado e senti-me deveras lisonjeado quando me pediu uma história para a primeira edição que ele, é lógico, queria começar com o pé direito.
O problema é que o tempo que me foi concedido era curto. Ele precisava da história em uma semana — afirmou — e eu estava por demais nervoso por escrever para qualquer outro que não fosse John Campbell. Afinal, eu não tinha a mínima ideia do que Horace gostava, ao passo que John e eu nos encaixávamos como yin e yang.
Não obstante, tentei e produzi “O Salão de Sinuca Darwiniano”. Horace aceitou-a, mas sem evidente entusiasmo, e tive a miserável impressão de que a recebeu unicamente porque necessitava imediatamente de algo para a edição de lançamento, em outubro de 1950.
Permitam-me dizer-lhes, fundamentado em experiência pessoal, que a sensação que se tem em vender imerecidamente uma história, quer pelo nome, quer às custas do desespero de um editor, é muito pior do que a sensação que se tem diante de uma recusa (a menos que se esteja desesperado por dinheiro, suponho).
Ofereci-me, incontinente, para escrever outra história para Horace e foi, portanto, o que fiz. Horace aceitou-a, também, e utilizou-a no segundo número, novembro de 1950. Desta feita, porém, como não estava preso a nenhum compromisso pôde dar-se ao luxo de ser mais seletivo, de modo que me senti enormemente aliviado quando a aceitou — mas não pude deixar de perceber que a recebeu também sem grande entusiasmo.
Gradualmente, com o passar dos meses e dos anos, compenetrei-me de que Horace jamais recebia uma história com grande entusiasmo — e, com frequência, demonstrava uma acentuada ausência de entusiasmo por elas. (As recusas eram realmente brutais, tão brutais que, com o passar do tempo, ele perdeu um grande número de escritores, que se recusavam a submeterem-se ao tipo de vituperação que acompanhavam as rejeições.)
De qualquer forma, cheguei a compreender que a minha agonia com “O Salão de Sinuca Darwiniano” foi desnecessária. Poderia não ter sido a minha melhor história, mas Horace mostrou-se tão satisfeito com ela como sempre se mostrara satisfeito com qualquer outra, isto é, nada satisfeito.
Para mim, a importância de “O Salão de Sinuca Darwiniano” é que, ao lado de 827 Era Galáctica, marcou o início de minha diversificação no sentido de uma variedade de saídas e o fim de minha inteira dependência de John Campbell (muito embora não representasse o fim de minha gratidão para com ele).
O salão de sinuca darwiniano
— É claro que a concepção corrente da Gênesis 1 é completamente errônea — disse eu. — Vejam um salão de sinuca, por exemplo.
Os outros três evocaram mentalmente um salão de sinuca. Estávamos sentados em cadeiras giratórias, quebradas, no laboratório do Dr. Trotter, mas não havia nenhuma mágica em converter os bancos do laboratório em mesas de bilhar, o alto cabide de argolas em tacos, as garrafas de reativos em bolas, e dispor todas as coisas em perfeita ordem diante de nós.
— Thetier ergueu um dedo, fechou os olhos e murmurou levemente:
— Salão de sinuca!
Trotter, como de costume, não disse absolutamente nada. Simplesmente afagou a sua xícara de café. Este, igualmente, como de hábito, estava horrível. Mas então, eu era um recém-chegado ao grupo e ainda não tinha calejado suficientemente o meu revestimento gástrico.
— Agora, imaginem o final de uma partida de bilhar — prossegui. Vocês têm cada uma das bolas, com exceção, é claro, da bola de jogo, em determinada caçapa...
— Espere um instante — disse Thetier, o eterno purista — não vem ao caso em quais caçapas, desde que se coloquem as bolas numa certa ordem ou...
— Não interessa. Quando a partida está encerrada, as bolas acham-se em várias caçapas. Correto? Agora, suponhamos que caminhem pelo salão de sinuca, depois de encerrada a partida, e observem tão-somente a posição final; experimentem reconstruir o curso dos eventos anteriores. Terão, obviamente, numerosas alternativas.
— Não quando se conhecem as regras do jogo — disse Madend.
— Presuma ignorância total — disse eu. — Podem concluir que as bolas caíram nas caçapas ao serem arremessadas pela bola de jogo, que por seu turno foi impulsionada pelo taco. Seria essa a verdade, mas não uma explicação muito provável de ocorrer espontaneamente a você. É muito mais provável que se chegue à conclusão de que as bolas foram colocadas com a mão, individualmente, nas caçapas correspondentes, ou, ainda, que as bolas sempre existiram nas caçapas em que foram encontradas.
— Certo — disse Thetier — se vai reportar-se novamente à Gênesis, alegará que, por analogia, podemos ter o universo na conta de sempre existente, tendo sido criado arbitrariamente, como ele é atualmente, ou tendo se desenvolvido pela evolução, não é? E daí?
— Não é, absolutamente, o que estou propondo — disse eu. — Vamos. aceitar o fato de unta criação intencional e considerar unicamente os métodos pelos quais tal criação poderia ter sido realizada. É cômodo supor que Deus disse “Haja luz”, e a luz passou a existir, mas não é estético.
— É simples — comentou Madend — e a Razor de Occam exige que, dentre possibilidades alternativas, se adote a mais simples.
— Em tal caso, por que não termina unia partida de bilhar colocando com as mãos as bolas nas respectivas caçapas? Também é muito mais simples, mas não é estético. Por outro lado, se você iniciar com o átomo primordial...
— O que é isso? — perguntou Trotter brandamente.
— Bem, chame-o toda massa de energia comprimida dentro de unia única esfera, num estado de mínima entropia. Se se devesse explodi-la de tal forma que todas as partículas constituintes de matéria e quanta energéticos devessem agir, reagir e interagir de forma adrede calculada, exatamente como o nosso universo está feito, não seria muito mais satisfatório acenar com a mão e ordenar: “Haja luz”?
— Quer dizer — perguntou Madend — que é assim como mandar a bola do jogo contra uma das outras bolas, enviando todas as quinze em caçapas previamente escolhidas?
— Num bonito padrão — acrescentei. — Exatamente.
— Há mais poesia num enorme ato de vontade direta — disse Madend.
— Depende se você vê a matéria cano um matemático ou um teólogo — frisei.
— Em verdade, a Gênesis 1 poderia ser levado a ajustar-se ao esquema da partida de bilhar. O Criador poderia ter gasto seu tempo, calculando todas as variáveis e relacionamentos necessários em seis gigantescas equações. Conte um “dia” para cada equação. Após ter aplicado o ímpeto explosivo inicial,’ então “descansaria” no sétimo “dia”, o dito sétimo “dia” sendo o intervalo de tempo daquele início até o ano 4004 AC. Tal intervalo, no qual o padrão infinitamente complexo de bolas de bilhar seleciona-se a si mesmo, obviamente não é de interesse para os escritores da Bíblia. Todos os seus bilhões de anos poderiam ser considerados. meramente o desenvolvimento do simples ato da criação.
— Você está postulando um universo teleológico — disse Trotter — no qual está implícito um propósito.
— Decerto — disse eu. — Por que não? Um ato consciente de criação sem um propósito é ridículo. Ademais, se você tentar considerar o curso da evolução como o resultado de forças cegas, sem propósitos, acaba se defrontando com problemas muito embaraçantes.
— Por exemplo? — interpelou-o Madend.
— Por exemplo — tomei eu — a extinção dos dinossauros,
— O que há de tão duro de se compreender nisso?
— Não há nenhuma razão lógica para ela. Tente nomear uma.
— A Lei do Retorno Reduzido — disse Madend. — O brontossauro tornou-se tão pesado que exigia pernas como troncos de árvores para suportá-lo e por isso tinha que permanecer na água e deixar que a flutuabilidade fizesse a maior parte do trabalho. Precisava alimentar-se o tempo todo para se conservar suprido com calorias. E digo o tempo todo. Quanto aos carnívoros, eram afligidos por tais couraças sobre o corpo em seus confrontos uns contra os outros, ofensivos ou defensivos, que não passavam de tanques rastejantes, arfando sob meia tonelada de ossos e escamas. A certa altura, simplesmente não valia a pena.
— Muito bem — insisti eu. — De modo que os grandes bebês morreram. Mas grande parte dos dinossauros eram pequenas criaturas que corriam, para os quais nem o peso nem a couraça haviam-se transformado em algo excessivo, O que foi feito deles?
— No que diz respeito aos pequenos — interferiu Thetier — houve a questão da competição. Se alguns dos répteis desenvolvessem pelos e sangue quente poderiam ter-se adaptado mais eficientemente às variações climáticas. Não precisavam manter-se ao abrigo da luz solar direta; não se tornavam morosos tão logo a temperatura baixasse dos 26°C e não teriam que hibernar no inverno. Logo, chegavam em primeiro lugar na luta pela comida.
— Isso não me satisfaz — eu disse. — Em primeiro lugar, não penso que os vários sáurios fossem tão frágeis. Aguentaram uns trezentos milhões de anos, como vocês sabem, o que representam 298 milhões de anos a mais do que o gênero Homo tem a seu crédito; em segundo lugar, os animais de sangue frio ainda sobrevivem, notadamente os insetos e os anfíbios...
— Poderes de reprodução — disse Thetier.
— E alguns répteis. As serpentes, os lagartos e as tartarugas estão passando muito bem, obrigado. E, já que estamos no assunto, que tal o oceano? Os sáurios se adaptaram a ele na forma de ictiossauros e plessiossauros, Desapareceram, também, e não houve nova forma vivente que se desenvolvesse baseada nos radicais avanços revolucionários, para competir com eles. Até onde chega meu discernimento, a mais elevada modalidade de vida no oceano é o peixe, e eles precedem os ictiossauros. Como se explica isso? Os peixes são também animais de sangue frio e muito mais primitivos. No oceano não existe a questão do peso e do Retorno Reduzido, de vez que a água realiza todo o trabalho de sustentação. A baleia de dorso amarelo é muito maior do que qualquer dinossauro que já existiu. Outra coisa: Qual o proveito de discorrer sobre a inépcia do sangue frio e afirmar que em temperaturas abaixo de 26°C os animais de sangue frio tornam-se lentos? Os peixes sentem-se muito felizes em temperaturas contínuas de 0°C e não há nada de lento num tubarão.
— Neste caso, por que os dinossauros desapareceram sorrateiramente da Terra, deixando atrás seus ossos? — perguntou Madend.
— Faziam parte de um plano. Uma vez que haviam preenchido um propósito, tornaram-se desnecessários e, portanto, descartados.
— Como? Numa catástrofe Velikovskiana devidamente preparada? Um cometa inesperado? O dedo de Deus?
— Não, decerto que não. Desapareceram natural e necessariamente consoante um plano original previamente traçado.
— Então, deveríamos ser capazes de descobrir qual a causa natural e necessária da extinção.
— Não necessariamente. Poderia ter sido alguma obscura falha na bioquímica dos sáurios, algum desenvolvimento vitamínico deficiente...
— Tudo é demasiadamente complicado — afirmou Thetier.
— Parece apenas complicado — assegurei-lhes. — Suponhamos que era necessário colocar uma bola de bilhar na caçapa recorrendo a quatro pontos da mesa. Vocês comentariam com desdém o curso relativamente complicado da bola de jogo? Uma tacada direta seria muito menos complicada, mas não levaria a nada. A despeito da aparente complexidade, a trajetória não seria mais difícil para um perito. Ainda assim, seria um único movimento do taco, só que numa direção diferente. As propriedades comuns dos materiais elásticos e das leis de conservação da quantidade de movimento assumiriam em seguida o controle.
— Presumo, então — disse Trotter — que sugere que o curso da evolução representa o meio mais simples a partir do qual se poderia ter progredido do caos original ao homem?
— Correto. Pardal algum cai sem um propósito, nem um pterodáctilo.
— E daqui, aonde vamos?
— A lugar nenhum. A evolução termina com o desenvolvimento do homem. As antigas regras não se aplicam mais.
— Oh, não? — perguntou Madend. — Está omitindo a contínua ocorrência de variação ambiental e as mutações.
— Omito, num sentido — insisti. — O homem está controlando o seu ambiente cada vez mais e compreendendo gradativamente o mecanismo das mutações. Antes de o homem aparecer em cena, os seres não podiam prever nem resguardarem-se das modificações nas condições climáticas. Nem podiam imaginar o crescente risco representado pelas novas espécies em desenvolvimento, antes que o perigo se tornasse esmagador. Mas, então, proponham a si mesmos a pergunta: Que espécie de organismo pode nos substituir e de que modo levará a cabo a tarefa?
— Poderíamos iniciar levando em conta os insetos — ponderou Madend.
— Acho que já estão realizando o trabalho.
— Eles não impediram nosso crescimento demográfico de cerca de dez vezes mais nos últimos cento e cinquenta anos. Se o homem fosse um dia concentrar-se no combate aos insetos em vez de gastar a maior parte do esforço disponível em outros tipos de combates, afirmo que os insetos não durariam muito. Não há meios de provar isso, mas é a minha opinião.
— E sobre as bactérias, melhor ainda, os vírus? — perguntou Madend. — O vírus da influenza de 19i8 realizou um notável trabalho em eliminar uma considerável porcentagem da população.
— Certo — disse eu. — Somente um por cento dela. Mesmo a Peste Negra, no século XIV, conseguiu aniquilar apenas um terço da população da Europa; e isso numa época em que a ciência médica era inexistente. Foi-lhe permitido que seguisse seu curso à vontade, sob as mais surpreendentes condições de penúria medieval, falta de higiene e privações; contudo, ainda dois terços de nossa brava espécie conseguiram sobreviver. Tenho certeza de que a doença não leva a palma.
— Que tal o próprio homem transformando-se numa espécie de super-homem, destronando o homem de outrora? — sugeriu Thetier.
— Nenhuma remota possibilidade — disse eu. — A única parte do ser humano que vale alguma coisa, no que respeita a ser dono do mundo, é o seu sistema nervoso; o hemisfério cerebral do intelecto, em particular. É a parte mais especializada do seu organismo e, portanto, um beco sem saída. Se há alguma coisa que o curso da evolução demonstra, essa coisa é que, uma vez que se estabelece um certo grau de especialização, a flexibilidade se perde e o desenvolvi mento adicional pode prosseguir somente na direção de maior especialização.
— Não é isso exatamente o que se procura? — perguntou Thetier.
— Pode ser; mas, como ressaltou Madend, a especialização tem o costume de alcançar um ponto de retorno reduzido. É o tamanho da cabeça humana no nascimento que torna o parto difícil e doloroso; é a complexidade da mentalidade humana que faz com que a maturidade emociona] e mental se arraste muito atrás da maturidade sexual do homem, com sua consequente quantidade de problemas; é a delicadeza do equipamento mental que nos transforma em uma raça de neuróticos. Por quanto tempo conseguiremos prosseguir sem o desastre total?
— O desenvolvimento — disse Madend — devia ter em vista uma maior estabilidade ou uma maturidade mais rápida, em vez de uma mais elevada intensidade do poder cerebral.
— Talvez, mas não há indícios disso. O homem Cro-Magnon existiu há dez mil anos e há indicações interessantes de que o homem moderno é inferior a ele tanto em capacidade cerebral como em capacidade física, no que respeita ao assunto.
— Dez mil anos — afirmou Trotter — não é muito, evolucional- mente falando. Ademais, existe sempre a possibilidade de outras espécies animais estarem desenvolvendo inteligência ou coisa melhor, se é que existe coisa melhor.
— Jamais permitiremos tal coisa. Eis a questão. Seriam necessários centenas de milhares de anos para, digamos, ursos e ratos se tornarem inteligentes e os eliminaríamos tão logo nos apercebêssemos do que estava acontecendo, ou então os utilizaríamos como escravos.
— Muito bem — disse Thetier. — E quanto às deficiências bioquímicas, tais como aquela em que insistiu com relação aos dinossauros? Veja a Vitamina C, por exemplo. Os únicos organismos que a podem produzir por si mesmos são os porquinhos-da-índia e os primatas, inclusive o homem. Suponhamos que a tendência continue e nos tornemos insuportavelmente dependentes de um excesso de fatores alimentares essenciais. Ou, se o aparente crescimento de susceptibilidade ao câncer continuar. E então?
— Não é problema — disse eu. — A essência na nova situação é que estamos produzindo artificialmente todos os fatores alimentares e conseguiremos ao cabo de algum tempo dispor de uma dieta totalmente sintética. Não há motivo para se pensar que não descobriremos um dia como prevenir ou curar o câncer.
Trotter levantou-se. Terminara o café e ainda afagava a xícara.
— Muito bem, então. Afirma que estamos num beco sem saída. Mas, e se tudo isso estava incluído no relato original? O Criador estava preparado para despender trezentos milhões de anos, permitindo que os dinossauros desenvolvessem uma coisa ou outra que acelerasse o desenvolvimento dos homens, ou é o que você afirma? Por que não elaborou ele um plano através do qual o homem pudesse utilizar sua inteligência e domínio do ambiente para preparar a etapa seguinte do jogo? Poderia ser uma parte muito divertida do jogo de bilhar.
Aquilo me paralisou:
— O que quer dizer? — perguntei.
Trotter sorriu para mim:
— Ora, estava apenas pensando que poderia não ser de todo coincidência e que talvez uma nova raça esteja surgindo e uma velha raça chegando ao final dos esforços desse mecanismo cerebral.
Deu um tapinha na fonte,
— De que modo?
— Interrompa-me, se estiver equivocado, mas não estão o estudo da ciência nuclear e a cibernética alcançando picos simultâneos? Não estamos inventando a um só tempo bombas de hidrogênio e máquinas pensantes? Trata-se de coincidência, ou é parte do propósito divino?
Foi o quanto bastou na hora do almoço. Havia iniciado, de minha parte, como um bate-papo fundamentado na lógica, mas, desde então, tenho estado pensando...
“O Salão de Sinuca Darwiniano” é, em essência, uma conversa entre várias pessoas. Sempre ansiei por contar histórias desse tipo, talvez por ter lido muitas histórias, das quais gostei, que principiavam com gente em volta de uma crepitante fogueira, trocando impressões em noites de tempestade e então uma delas começava assim: “Foi numa noite muito parecida com esta que eu...”.
Esta história em foco foi fortemente influenciada pela minha posição na Escola de Medicina. À hora do almoço sempre havia uma prolongada reunião de homens com os outros membros da Faculdade — especialmente com Burnham S. Walker, que era o chefe do Departamento de Bioquímica, William C. Boyd, de Imunologia Química, e Matthew A. Derow, de Microbiologia. (Todos atualmente aposentados, mas, pelo que sei, ainda vivos.)
Todos os três, particularmente Boyd, eram fãs de ficção científica e foi Boyd quem primeiro sugeriu o meu nome para o modesto posto de professor (o que para mim pareceu, na época, o extravagante e esplêndido salário de cinco mil dólares todos os anos).
Com o correr do tempo, escrevi um manual de Bioquímica, com Walker e Boyd, intitulado Bioquímica e Metabolismo Humano (Williams & Wilkins, 1952). Fez-se uma segunda edição em 1954 e uma terceira em 1957, tendo sido, cada uma delas, um fracasso. Walker e uma enfermeira estranha à escola elaboraram outro livro didático para estudantes de enfermagem, denominado Química e Saúde Humana (McGraw-Hill, 1956). Resultou num fracasso ainda pior.
Embora tivesse sido um fracasso, Bioquímica e Metabolismo Humano introduziu-me nas delícias de escrever não-ficção e nem eu nem minha carreira de escritor permanecemos a mesma coisa novamente.
Havia sido minha intenção escrever toda uma série de contos dialogados como “O Salão de Sinuca Darwiniano” Dissuadi-me disso (talvez afortunadamente) mercê da minha errônea interpretação da dura aceitação da história por parte de Horace e pelo comentário do dr. Walker ao lê-la quando impressa. Disse ele, no seu habitual tom lacônico: “Nossas conversas são melhores”.
Mas nem tudo estava perdido. Havia de chegar a hora em que estaria novamente inspirado, desta feita nas conversas durante o jantar, no Trap Door Spiders, um clube singular a que pertenço. Com nítida recordação de “O Salão de Sinuca Darwiniano” tenho escrito uma série completa de contos de mistério baseados em conversas tidas ao jantar. Muitos deles têm aparecido em várias edições de Ellery Queen’s Mistery Magazine, começando com a de janeiro de 1972. Doze deles foram reunidos em meu livro Tales of the Black Widowers (Doubleday, 1974). Atualmente, tenho completados mais doze para More Tales of the Black Widowers.
Mencionei em O futuro começou o fato de que havia contos que eu não conseguira vender. Mais ainda, afirmei, naquele livro, que todos os onze contos não mais existiam e que deveriam permanecer para sempre no ostracismo.
Todavia, a Universidade de Boston coligiu todos os meus papéis com um esmero e determinação dignos de uma causa muito melhor, e, quando principiaram a fazê-lo, em 1966, entreguei-lhes pilhas e pilhas de manuscritos que eu não havia examinado.
Entretanto, algum impaciente jovem fã o fez. Aparentemente, a Universidade de Boston permite o escrutínio de suas coleções literárias para propósitos de pesquisa, e o jovem fã, apresentando-se como historiador de literatura — suponho — teve acesso aos meus arquivos. Topou com o desbotado manuscrito de “Caça Graúda”, um pequeno conto de mil palavras que eu havia catalogado em O futuro começou como a décima primeira e a última de minhas recusas extraviadas.
Tendo lido O futuro começou, o fã reconheceu o valor do achado. Mandou-o reproduzir imediatamente e enviou-me uma cópia dela. E eu, prontamente, providenciei para que o mesmo fosse impresso. Apareceu em Before the Golden Age.
Contudo, ao ler o manuscrito de “Caça Graúda” descobri que, num certo sentido, ele nunca estivera perdido. Eu o havia recuperado. No início de 1950, Robert W. Lowndes, então publicando várias revistas de ficção científica para a Columbia Publications, alegrando-se com a expansão da ficção científica da época, pediu-me um conto. Devo ter-me lembrado de “Caça Graúda”, escrito oito anos antes, porquanto produzi “O Dia dos Caçadores”, uma versão ampliada da história original e que Bob publicou na edição de novembro de 1950 de Future Combined with Science Fiction Stories.
O DIA DOS CAÇADORES
Começou na mesma noite em que terminou. Não foi muita coisa. Apenas me preocupou e ainda me preocupa
Vejam vocês. Joe Bloch, Ray Manning e eu estávamos sentados em torno de nossa mesa preferida no bar da esquina com uma noite à nossa disposição e muito tempo para desperdiçar em tagarelices. Este é o início.
Joe Bloch iniciou discorrendo sobre a Bomba Atômica e o que achava que deveria ser feito com ela e o que alguém teria pensado dela cinco anos antes. Eu afirmei que cinco anos antes uma porção de indivíduos havia pensado e escrito histórias sobre ela e ia ser duro para eles, agora, tentarem conservar-se à frente dos jornais. O que levou a um debate a respeito de como uma quantidade de coisas deturpadas poderia transformar-se em coisas reais e uma porção dessas coisas poderia ser posta de lado.
Ray declarou ter ouvido alguém dizer que um importante cientista havia feito uma barra de chumbo recuar no tempo cerca de dois segundos, ou dois minutos, ou dois milésimos de segundo — ele não sabia muito bem. Afirmou que o cientista não estava contando nada a ninguém porque pensava que ninguém acreditaria nele.
Perguntei, então, com leve sarcasmo, como é que ele veio a saber disso. Pode ser que Ray tenha inúmeros amigos, mas eu tenho o mesmo número de amigos que ele e não conheço nenhum cientista muito importante. Ele, entretanto, disse que não me importasse com isso. Que aceitasse ou esquecesse.
Em seguida, não se falou em mais nada senão de máquinas do tempo e como supor que uma pessoa recuasse no tempo e matasse o próprio avô, ou por que razão ninguém recuava do futuro para nos dizer quem ganharia a próxima guerra mundial, ou se haveria tal guerra, e, se houvesse, se restaria.porventura algum lugar na Terra em que a gente pudesse viver em seguida a ela, independentemente de quem a vencesse.
Ray supôs que o simples fato de conhecer o vencedor da sétima corrida, enquanto a sexta ainda estava sendo disputada, seria alguma coisa.
Joe, no entanto, era de opinião diferente. Disse:
— O problema com vocês, rapazes, é que só pensam em guerras e corridas. Eu tenho curiosidade. Sabem o que eu faria, se tivesse uma máquina do tempo?
Quisemos logo saber, embora estivéssemos prontos para dar-lhe aquele risinho silencioso, fosse o que fosse.
Ele prosseguiu:
— Se tivesse uma máquina do tempo, recuaria no tempo uns dois, cinco ou cinquenta milhões de anos para descobrir o que aconteceu aos dinossauros.
Ficou muito mal para Joe, porquanto tanto Ray como eu achávamos que não havia nenhum sentido naquilo. Ray declarou que ninguém se interessava por um bando de dinossauros e eu disse que eles prestavam unicamente para fazer com que uma quantidade de indivíduos suficientemente loucos gastem o piso dos museus para ver uma balbúrdia de esqueletos. Que era bom que saíssem do caminho e dessem lugar para seres humanos. É evidente que Joe, olhando-nos com severidade, disse que, com alguns seres humanos que conhecia, devíamos apegar-nos a dinossauros. Nós, no entanto, não demos importância àquilo.
— Vocês, seus tolos pretensiosos, podem rir e fazer de conta que sabem alguma coisa, mas é porque nunca tiveram nem um bocadinho de imaginação — disse ele. — Os dinossauros eram animais gigantescos. Milhões, de todos os tipos — grandes como casas e silenciosos também como elas — por todo lado. E então, subitamente, assim — estalou os dedos — não existem mais.
Como aconteceu, era o que queríamos saber.
Ele, no entanto, estava terminando uma cerveja e com uma moeda acenava para Charlie, pedindo outra, com a intenção de provar que se dispunha a pagá-la. Encolheu os ombros:
— Não sei. No entanto, é o que tenho verificado.
Foi tudo, Aquilo teria encerrado a conversa. Eu teria dito alguma coisa, Ray teria soltado alguma piadinha e todos tomaríamos outra cerveja e talvez trocássemos algumas impressões a respeito do tempo e dos “Brooklyn Dodgers”; diríamos um “até à vista” e não mais pensaríamos em dinossauros.
Acontece que não fizemos nenhuma dessas coisas e, atualmente, não tenho outra coisa na mente, senão dinossauros. Sinto-me enjoado.
É que o estranho da mesa ao lado ergueu os olhos e gritou:
— Hei!
Não o havíamos visto. Normalmente nos bares, não ficamos olhando em redor, procurando estranhos. Dá-me muito trabalho manter um registro de todos os estranhos que conheço. O camarada tinha uma garrafa diante dele — que estava pela metade — e um copo na mão, o qual estava cheio. Gritou:
— Hei!
Todos olhamos para ele. Ray sugeriu:
— Pergunte-lhe o que deseja, Joe.
Joe era o que estava mais próximo. Inclinou a cadeira para trás e perguntou: -
— O que deseja?
O estranho disse:
— Ouvi os cavalheiros mencionarem dinossauros?
Ele estava um pouco embriagado; os olhos davam a impressão de estar sangrando e somente por dedução se poderia dizer que a camisa dele foi branca um dia. Mas deve ter sido o modo de ele falar. Não soava como um estranho, se entendem o que quero dizer.
Não obstante, Joe levantou-se parcialmente e perguntou:
— Sim. Deseja saber alguma coisa?
Ele sorriu-nos de um modo vago. Um estranho sorriso. Começava na boca e terminava um pouco antes dos olhos. Perguntou-nos:
— Querem construir uma máquina do tempo e nela recuar para descobrir o que foi feito dos dinossauros?
Pude perceber que Joe estava matutando que espécie de vigarice estava a caminho. Eu estava imaginando o mesmo. Joe disse:
— Por quê? Pretende se oferecer para construir uma para mim?
O estranho mostrou os dentes irregulares e prosseguiu:
— Não, cavalheiro. Eu poderia, mas não o farei. Quer saber por quê? Porque, há alguns anos atrás, construí para mim mesmo uma máquina do tempo e recuei na Era Mesozoica e descobri o que aconteceu aos dinossauros.
Mais tarde, fui verificar a grafia de “Mesozoica” e é por isso que acertei ao escrevê-la, se é o que estão pensando. Fiquei sabendo que a “Era Mesozoica” foi aquela em que todos os dinossauros fizeram seja lá o que for que faziam os dinossauros. No entanto, naquele momento tudo não passava para mim de uma algaravia incoerente. Eu, sobretudo, pensava que estávamos falando com um lunático. Joe alegou mais tarde que estava a par desse troço de Mesozoica, mas que terá que falar muito, por muito mais tempo e muito mais alto, antes que Ray e eu acreditemos nele.
Ficamos na mesma. Convidamos o estranho para a nossa mesa. Suponho que imaginei que poderíamos dar-lhe atenção durante algum tempo e conseguir alguma coisa da garrafa dele. Os outros devem ter imaginado o mesmo. Ele, no entanto, conservou a garrafa bem segura na mão direita ao sentar-se e ali ela ficou.
Ray perguntou:
— Onde construiu uma máquina do tempo?
— Na Universidade de Midwestern. Minha filha e eu trabalhávamos juntos nela.
Ao dizer isto pareceu um estudante.
Interroguei-o:
— E onde está ela agora. No seu bolso?
Nem pestanejou. Em momento algum insurgiu-se contra a gente — a despeito de falarmos como gozadores — como se o uísque lhe tivesse travado a língua ou pouco se lhe desse se permanecêssemos ou não ali.
Disse:
— Desmontei-a. Não a queria. Fartei-me dela.
Não acreditamos nele. Não achamos a resposta digna de crédito. Vejam se compreendem: é lógico que, se um sujeito inventasse uma máquina do tempo, poderia faturar milhões. Conseguiria ganhar todo o dinheiro do mundo simplesmente sabendo o que iria acontecer na Bolsa de Valores, nas corridas de cavalos e nas eleições. Ele não jogaria tudo isso fora, não me importa quais os argumentos que pudesse apresentar. Por outro lado, nenhum de nós ia acreditar em viagens no tempo. Afinal, para quê? E se você matasse o seu próprio avó?
Bem, não importa.
Joe disse:
— Pois bem, decerto quebrou a máquina. Qual é o seu nome?
Todavia, nunca respondeu à pergunta. Interpelamo-lo mais algumas vezes e então acabamos por chamá-lo “Professor”.
Ele esvaziou o copo e tornou a enchê-lo bem devagar. Não nos ofereceu nada. Bebemos as nossas próprias cervejas.
Eu disse então:
— Bem, siga em frente, O que aconteceu aos dinossauros?
Ele, no entanto, não nos contou imediatamente. Fixou os olhos no centro da mesa e foi para ela que falou:
— Não sei quantas vezes Carol me fez regredir no tempo — se apenas alguns minutos, ou horas — antes que eu desse o grande salto. Não me interessavam os dinossauros. Desejava apenas saber até que ponto a máquina me levaria com o potencial que eu tinha à minha disposição. Suponho que foi arriscado, mas a vida não é tão maravilhosa? A guerra estava acontecendo então... mais uma vida? — Pareceu afagar o copo como se estivesse discorrendo sobre generalidades. Depois, deu a impressão de ignorar uma parte de sua mente e continuou.
— Fazia sol — disse ele. — Um dia ensolarado e luminoso; tempo seco e desagradável. Não havia pântanos, nem samambaias. Nada da paisagem cretácea a que associamos os dinossauros — pelo menos,. penso que foi o que disse. Nunca atinei com o sentido de palavras difíceis; por isso, mais tarde, apegar-me-ei ao que conseguir me lembrar. Observei como pronunciava todas as palavras e devo declarar que pela quantidade de álcool que o homem ingerira, pronunciava-as sem gaguejar.
Foi talvez o que nos inquietou. Falava familiarmente de todas as coisas e tudo aquilo ele dizia como se não fosse nada.
Continuou:
— Era uma das últimas Eras... certamente a Cretácea. Os dinossauros já estavam em vias de extinção — todos, exceto os menores, com seus cintos metálicos e os revólveres.
Observei que Joe quase meteu o nariz no copo de cerveja. Praticamente deu uma volta completa ao copo quando o professor soltou a melancólica declaração.
Joe pareceu furioso:
— Que menores, com que cintos metálicos e que revólveres?
O professor fitou nele os olhos por um segundo apenas e a seguir voltou a fixá-los no vazio.
— Eram pequenos répteis, com um metro e vinte centímetros de altura, aproximadamente. Erguiam-se sobre as pernas traseiras, apoiando-se na grossa cauda. Tinham pequenos antebraços com dedos. A cintura era cingida por um cinto metálico, do qual pendiam revólveres. Não revólveres que disparavam projéteis, mas sim projetores de energia.
— Eram o quê? — exclamei. — Escuta, quando foi isso? Há milhões de anos?
— Exatamente — disse ele. — Eram répteis. Não tinham pálpebras, eram cobertos de escamas e provavelmente punham ovos. Contudo, usavam revólveres de energia. Havia cinco. Caíram sobre mim, tão logo desembarquei da máquina do tempo. Devem ter existido milhões deles por toda a Terra... milhões. Espalhados por toda parte. Deviam ter sido os Senhores da Criação naquela época.
Presumo que foi nesse ponto que Ray julgou tê-lo apanhado, porquanto seus olhos tomaram aquele ar de sabichão, que leva a gente a sentir vontade de bater-lhe na cabeça com uma caneca vazia de cerveja, pois, com ela cheia, seria um desperdício.
Perguntou:
— Ouça, professor, milhões deles, hein? Não existem indivíduos que não fazem outra coisa, senão descobrir ossos antigos e perder um tempão com eles, até darem com o aspecto de um dinossauro? Os museus estão atulhados de tais esqueletos, não estão? Pois bem, onde existe um esqueleto com cinto metálico? Se havia milhões, o que foi feito deles? Onde estão seus ossos?
O professor suspirou. Um suspiro autêntico, triste. Talvez se tivesse dado conta de que falava a três sujeitos de avental num bar. Ou, quem sabe estava ligando para isso.
Respondeu:
— Não se acham muitos fósseis. Considere o total de animais que viveram na Terra. Imagine quantos bilhões e trilhões. — E então, veja como achamos poucos fósseis. Lembrem-se que esses lagartos eram inteligentes. Não ficariam presos nas avalanchas de neves, ou atolados em lamaçais, nem cairiam nas lavas, a não ser por um grande acidente. Considere como existem poucos fósseis humanos — mesmo dos homens-macacos subinteligentes de um milhão de anos atrás.
Olhou o seu copo meio cheio e passou a rodá-lo.
Prosseguiu:
— Afinal, o que os fósseis mostrariam? Cintos metálicos corroem-se completamente pela ferrugem e não deixam nada. Esses pequenos lagartos eram animais de sangue quente. Sei disso, mas não se poderá prová-lo a partir de ossos petrificados. Que diabo! Há um milhão de anos de nossa época conseguiríamos diferençar entre o aspecto de Nova Iorque o de um esqueleto humano? Conseguiríamos estabelecer a diferença entre um humano e um gorila pelos ossos e decidir-nos sobre qual deles construiu uma bomba atômica e qual comia bananas num zoológico?
— Epa — exclamou Joe, objetando prontamente. — Qualquer beberrão pode dizer a diferença entre o esqueleto de um gorila e o de um homem. O homem tem cérebro maior. Qualquer idiota é capaz de dizer qual deles era inteligente.
— É mesmo? — e o professor deu uma gargalhada para si mesmo, como se tudo fosse tão simples e óbvio, uma gritante e deplorável perda de tempo. — Vocês julgam as coisas a partir do tipo de cérebro que os humanos lograram desenvolver. A evolução tem meios diversos de fazer as coisas. Os pássaros voam de um jeito; os morcegos, de outro. A vida dispõe de numerosos expedientes para tudo. Quanto pensam que utilizam do cérebro? Cerca de um quinto dele. É o que afirmam os psicólogos. Até onde chega o conhecimento deles, e pelo que todo mundo sabe, oitenta por cento do cérebro não têm absolutamente qualquer uso. Todos funcionamos em marcha lenta, com exceção talvez de uns poucos na História: Leonardo da Vinci, por exemplo. Arquimedes, Aristóteles, Gauss, Galois, Einstein.
Eu nunca ouvira falar de nenhum deles, salvo Einstein, mas não revelei o fato. Ele mencionou mais alguns, mas só incluí aqueles que consigo recordar. Então ele disse:
— Os pequenos répteis possuíam cérebros diminutos, talvez de um quarto de carcaça de animal, talvez até menores do que isso, mas o utilizavam inteiramente — cada pedacinho dele. Os ossos podem não revelar nada, mas eram inteligentes; inteligentes como os humanos. E eram os Senhores de toda a Terra.
Foi então que Joe apareceu com uma muito boa; Por instantes tive a certeza de que ele havia encurralado “Professor”, o que me proporcionou grande alegria. Ele disse:
— Escute, professor, se aqueles lagartos eram tão inteligentes, por que não deixaram nenhum vestígio de sua existência? Onde estão as cidades com seus prédios e toda sorte de coisas que ainda encontramos dos homens das cavernas, as facas de pedias e outros objetos? Se os seres humanos tivessem povoado toda a Terra, imagine as coisas que teríamos deixado para trás. A gente não conseguiria andar uma milha sem topar com uma cidade, com estradas e muitas outras coisas.
Contudo, nada conseguia deter o “Professor”. Não estava sequer abalado. Voltou simplesmente ao assunto dizendo:
— Continuam julgando outras modalidades de vida segundo os padrões humanos. Construímos cidades, estradas e aeroportos condizentes com os humanos — no entanto e!es não o fizeram. Construíram tudo num plano diferente. Todo o estilo de vida deles era diferente desde o início. Não moravam em cidades; não cultivavam o nosso estilo de arte. Não sei ao certo o que realmente tinham, porquanto eram tão estranhos que eu não pude compreendê-los — salvo as armas. Essas teriam sido as mesmas. Não é engraçado? Por tudo quanto sei, talvez tropeçamos em suas relíquias diariamente e nem mesmo nos damos conta de que são o que são.
Começava a sentir-me enjoado. Não conseguíamos pegá-lo. Quanto mais argúcia de nossa parte, tanto mais arguto ele se mostrava.
Perguntei:
— Como é que sabe tanto a respeito dessas coisas? O que fez? Viveu com eles? Falavam inglês ou era você que falava a língua dos sáurios? Ensine-nos algumas palavras do idioma dos lagartos.
Suponho que também estava ficando louco. Vocês compreendem como são essas coisas. Um indivíduo lhes conta uma história em que vocês não acreditam por julgá-la por demais excêntrica; e vocês não conseguem levá-lo a confessar que está mentindo.
O “Professor”, no entanto, não estava nem um pouco furioso. Estava apenas enchendo o copo, devagarinho.
— Não — respondeu ele. — Não falei, nem falaram. Simplesmente fitaram-me com aqueles olhos frios, duros, parados — olhos de répteis — e dei-me conta do que estavam pensando e percebi que sabiam o que eu estava pensando. Não me perguntem como isso aconteceu. Simplesmente aconteceu. Eu soube que estavam indo para uma expedição de caça e entendi que não tinham a intenção de soltar-me.
Paramos com as perguntas. Ficamos olhando para ele. Ray em se guida perguntou:
— E então, o que aconteceu? Como conseguiu escapar?
— Foi muito fácil. Um animal passou correndo numa colina — era um animal comprido, uns três metros de comprimento talvez, e estreito — e corria com o corpo rente ao chão. Os sáurios se excitaram. Senti a excitação em forma de ondas. Foi como se me tivessem esquecido devido a uma súbita necessidade carnal — e desapareceram. Entrei novamente na máquina, retornei e então a quebrei.
Foi-o fecho da história mais sem graça que já se ouviu. Joe produziu um ruído na garganta:
— Bem, o que aconteceu com os dinossauros?
— Oh, vocês não compreenderam? Pensei que fosse tão simples. Foram aqueles pequenos e inteligentes dinossauros. Eram caçadores, por instinto e por escolha. Caçar era o “hobby” da vida deles. Não para comer, mas por diversão.
— E acabaram com todos os dinossauros da Terra?
— Pelo menos os que viviam naquele tempo; todas as espécies de então. Não acham possível? Quanto tempo nos demorou para dar cabo de manadas de bisões, centenas de milhões de cabeças? O que aconteceu ao “cisne de capelo” em questão de alguns anos? Supondo que nos empenhássemos nisso, quanto tempo durariam os leões, os tigres e as girafas? Ora, no tempo em que vi aqueles dinossauros não havia caça grossa sobrando — nenhum réptil com mais de quatro metros e meio, se tanto. Tudo desaparecido. Os pequeninos demônios estavam dando caça aos menores, apressados, e provavelmente desmanchando-se em lágrimas por causa dos bons velhos tempos.
Conservamo-nos calados, olhando para as nossas garrafas de cerveja vazias, pensando no assunto. Todos aqueles dinossauros — grandes como casas — exterminados por pequenos sáurios armados de revólveres. Mortos por diversão.
Joe inclinou-se para a frente e pousou a mão de leve no ombro do professor, sacudiu-o e disse:
— Hei, professor, mas se é assim, o que aconteceu aos pequenos sáurios munidos de revólveres? E então — nunca voltou para descobrir?
O professor olhou para cima, com a espécie de olhar que teria se estivesse perdido.
— Vocês ainda não compreenderam! Já estava começando a acontecer-lhes. Eu o vi nos olhos deles. Estavam ficando sem caça grossa — a caça estava perdendo a graça. E então, o que esperavam que fizessem? Voltaram-se para outra caça — a maior e mais perigosa de todas — e divertiram-se pra valer mesmo. Perseguiram aquela caça até o fim.
— Que caça? — perguntou Ray. Ele não compreendeu, mas Joe e eu compreendemos.
— Eles mesmos. — disse o professor em voz alta. — Exterminaram todos os outros e então começaram o seu próprio extermínio — até que não restasse nenhum deles.
Calamo-nos outra vez e pusemo-nos a pensar naqueles dinossauros — grandes como casas — e todos mortos por pequenos lagartos armados de revólveres. Em seguida, consideramos os pequeninos lagartos e como tinham que conservar os revólveres em funcionamento mesmo quando não havia em quem usá-los, senão em si mesmos.
Joe lamentou:
— Pobres e estúpidos lagartos.
— Sim — disse Ray — pobres lagartos desmiolados.
O que se seguiu encheu-nos de verdadeiro pavor. O professor pôs-se em pé, de um salto, com os olhos que davam a impressão de saírem das órbitas e pular em nós. Gritou:
— Seus malditos imbecis! Por que ficam aí, sentados, discorrendo sentimentalmente sobre répteis que morreram há uma centena de milhões de anos? Foi a primeira inteligência sobre a Terra e assim terminou. Está acabada. Contudo, somos a segunda inteligência — e, diacho, como imaginam que vamos terminar?
Empurrou a cadeira e dirigiu.se porta. Antes de sair em definitivo, postou-se ao lado dela e gritou:
— Pobre humanidade imbecil! Vamos, chorem por ela.
Esta história — ai de mim! — parece ter uma moral e, efetivamente, enfia a marteladas essa moral na cabeça do leitor. É pena. A pregação direta estraga a eficácia de uma história. Se você não é capaz de conter o impulso de melhorar o seu irmão humano, então faça-o sutilmente,
De quando em quando, esqueço-me completamente dessa boa máxima. “O Dia dos Caçadores” foi escrita não muito depois de a União Soviética ter detonado sua primeira bomba atômica. Tinha sido algo deplorável então, sabendo-se que os Estados Unidos da América do Norte poderiam ser tentados a utilizar bombas nucleares desde que suficientemente irritados (como em 1945). Ora, pela primeira vez, havia surgido a possibilidade de uma guerra atômica, em que ambas as partes lançassem mão de engenhos nucleares. -
Presentemente, acomodamo-nos à situação e mal se pensa no assunto, mas em 1950 eram muitos os que julgavam inevitável um confronto atômico — e rápido. Senti.me muito amargurado quanto a isso — e minha amargura transparece na história.
A propósito, “O Dia dos Caçadores” é também narrado nos moldes de uma conversa. Passa-se num bar. As histórias de Wodehouse sobre Mulliner, as histórias desenvolvidas no Bar Gavagan por Sprague de Camp e Fletcher Pratt, e as histórias de Clarke a respeito de White Hart foram todas passadas em bares. Li e gostei imensamente de todas elas.
Era inevitável, portanto, que algum dia eu contaria uma história em forma de conversa em bar. O único problema é que não bebo e raramente me sento em um bar, de forma que provavelmente fiz tudo errado.
Minha estada em Boston mostrou dentro de um curto espaço de tempo não ser barreira para a minha carreira literária. (Com efeito, desde minha concentração na pesquisa doutoral, em 1947, nunca houve mais nada que fosse para mim um obstáculo.)
Após dois meses num pequeno apartamento sublocado (uma espécie de cortiço) muito perto da Escola, mudamo-nos para os subúrbios — se quiserem chamá-lo assim. Nem eu nem minha mulher sabíamos dirigir quando chegamos a Boston, de modo que tivemos que procurar moradia nas proximidades de linhas de ônibus. Conseguimos uma na paupérrima cidade de Somerville — no sótão de um edifício de estilo primitivo, incrivelmente quente no verão.
Lá, escrevi minha segunda novela, Poeira de estrelas (Doubleday, 1951). Neste ínterim, uma editora pequena e individual, Gnome Press, produziu uma coleção de minhas histórias positrônicas de robôs, Eu, Robô, em 1950, e a primeira porção das minhas histórias de Fundação, com o título de Fundação, em 1951.
Em 1950 aprendi a guiar e em 1951, conseguimos, para nossa enorme surpresa, ter um filho. Após nove anos de matrimônio, havíamos chegado à conclusão de que estávamos condenados a ser um casal sem filhos. Todavia, no fim de 1950, ficou patenteado que a explicação para algumas complicadas manifestações fisiológicas era que a minha mulher estava grávida. A primeira pessoa a pôr-me a par disso foi Evelyn Gold (Sra. Horace Gold, na época). Dei uma gargalhada e disse: “Não, não” mas era sim, sim; e David nasceu em 20 de agosto de 1951.
Tornado prolífico em livros e dado os primeiros passos no sentido de dirigir um automóvel e criar um filho, estava preparado para qual quer coisa. Comecei então a aceitar todo tipo de incumbências.
Entre as inúmeras revistas de ficção científica do início da década de 50, por exemplo, existiu a denominada Marvel Science Fiction. Foi a ressurreição de uma primeira Marvel, que havia publicado nove números entre 1938 e 1941, As primeiras revistas especializavam-se em contos que enfatizavam o sexo de maneira tola e desajeitada1.
Depois do renascimento da Marvel, em 1950 (resistiu apenas a mais meia dúzia de números), solicitaram-me um conto. Eu poderia ter me relembrado da insipidez da história da revista e recusado a produzir um conto, mas julguei que não poderia deixar de escrever um conto, pois, como todos sabem, sou um incorrigível trocadilhista2.
A história chamou-se Shah Guido G., e apareceu na edição de novembro de 1951 da Marvel.
________________
1 De modo indireto, fui levado eventualmente a escrever um conto denominado “O Estroina e o Deus de Barro”, que apareceu em Amazing Stories, em março de 1961, o qual foi incluído na minha coleção “O cair da noite” sob o título muito melhor de “O que é esta coisa chamada amor?”
2 Certa ocasião, perguntei a uma garota chamada Dawn se já havia utilizado uma daquelas balanças que emitem um bilhete impresso com o peso da pessoa, mediante a introdução de uma moeda numa ranhura apropriada, quando no decorrer de uma viagem à Flórida ela me falava da mencionada balança. Ela disse:
– Não, por quê? — Expliquei-lhe então que existia uma melodia baseada nisso. Ela então perguntou:
– Do que está falando?
Eu respondi: — Nunca ouviu “Descendo o Rio Swanee”? — Ela me perseguiu por cinco quarteirões, antes que eu conseguisse escapar.
Shah Guido G.
— Uma vez por ano, Philo Plat retornava ao local do crime. Era uma modalidade de penitência. A cada aniversário, escalava o cume deserto e fitava milhas e milhas de metal retorcido, concreto e ossos.
A área era desolada. O metal amassado ainda não apresentava manchas, nem ferrugem e o seu perfil irregularmente recortado elevava-se em fútil furor. Lá no meio, em algum lugar, estavam os esqueletos dos milhares de seres de ambos os sexos e de todas as idades, que haviam morrido. Os crânios desprovidos de olhos — por tudo quanto ele podia perceber — estavam quase vazios, praguejantes, na direção dele.
Havia muito que o mau cheiro havia desaparecido do deserto e os lagartos jaziam imperturbados em suas cavernas. Homem algum aproximava-se daquele remoto campo de sepultamento, onde o que restava dos corpos jazia na cratera escancarada, escavada pelo derradeiro desastre.
Somente Plat aparecia. Voltava ano após ano e sempre — como para proteger-se de tantos Olhos-Maldosos — trazia consigo a medalha de ouro. Ficava ousadamente pendurada no pescoço, enquanto ele permanecia em pé no cume. Nela estava inscrito simplesmente: “Ao Libertador”.
Desta vez Fulton veio com ele. Este havia sido um Inferior, nos dias que antecederam o desastre; nos dias em que havia existido os Inferiores e os Superiores.
Fulton disse:
— Admira-me que insista em vir aqui, Philo.
Plat respondeu:
— Devo. Saiba que o barulho da explosão foi ouvido a centenas de milhas. Sismógrafos registraram-no em todas as partes do mundo. A minha espaçonave pairava quase diretamente sobre ela. As vibrações do choque apanharam-me e lançaram-me a milhas de distância. No entanto, só consigo lembrar-me do brado uníssono no mo mento em Atlântida começou a desintegrar-se.
— Tinha de ser feito.
— Palavras — suspirou ele. — Havia crianças e inocentes.
— Ninguém é inocente.
— Tão pouco eu. Tinha de ser eu o executor?
– Tinha de ser alguém — Fulton foi firme. — Considere o mundo agora, vinte e cinco anos depois. A democracia restabelecida; a educação mais uma vez universal; a cultura acessível às massas e a ciência uma vez mais avançando. Duas expedições já desceram em Marte.
— Sei, sei, mas isso também foi uma cultura. Chamaram-na Atlântida, porque era uma ilha que governava o mundo. Uma ilha no céu, não no mar. Era ao mesmo tempo uma cidade e um mundo, Fulton. Você nunca viu sua coberta de cristal e seus magníficos prédios. Era uma joia sem par, esculpida em pedra e metal. Era um sonho.
— Era felicidade concentrada, destilada do escasso suprimento distribuído a bilhões de pessoas comuns que viviam na superfície.
— Sim, você está certo. Sim, tinha de ser. Contudo, poderia ter sido de outra maneira, Fulton. Sabe... — sentou-se na rocha dura, cruzou os braços sobre os joelhos e aninhou neles o queixo. — Às vezes imagino como deveria ter sido antigamente, quando havia nações e guerras na Terra. Penso que milagre deve ter parecido aos olhos dos povos quando as Nações Unidas se transformaram pela primeira vez num verdadeiro governo mundial, e o que Atlântida teria representado para eles.
“Era uma cidade-capital, que governava a Terra mas não fazia parte dela. Um disco negro no ar, capaz de aparecer em qualquer local da Terra, a qualquer altitude, sem pertencer a nenhuma nação e, no entanto, pertencente a todo o planeta. Não o produto do talento de uma só nação, mas o primeiro grande empreendimento de toda uma raça e então, no que se transformou!”
Fulton sugeriu:
— Vamos andando? Podemos querer retornar à espaçonave antes do escurecer.
Plat prosseguiu:
— Por um lado, suponho que era inevitável. A raça humana jamais inventou uma instituição que não terminasse como um câncer — Talvez, nos tempos pré-históricos, o feiticeiro que começou como o depositário da sabedoria tribal terminou como a última barreira ao avanço tribal. Na Roma antiga, o exército dos cidadãos...
Fulton o estava deixando falar... pacientemente. Era um estranho eco do passado. E outros olhos haviam estado sobre ele, naqueles dias, esperando pacientemente, enquanto ele discursava.
— ... o exército dos cidadãos, que defendeu os romanos contra todos os que chegavam, de Veli a Cartago, transformou-se na Guarda Pretoriana que vendeu o Império e cobrou impostos em todo ele. Os turcos desenvolveram os janízaros como sua imbatível guarda avançada contra a Europa e o sultão acabou como escravo de seus escravos janízaros. Os barões da Europa medieval protegeram os escravos contra os nórdicos e os magiares e em seguida permaneceram por mais de seiscentos anos como uma aristocracia parasita que com nada contribuía.
Plat tomou consciência dos pacientes olhos e perguntou:
— Não me compreende?
Um dos técnicos mais ousados perguntou:
— Com a sua bondosa permissão, Superior, precisamos pegar no batente.
— Sim, suponho que devem.
O técnico entristeceu-se. O Superior era estranho, embora bem intencionado. Apesar de dizer muitas tolices, perguntava pela família deles, assegurava-lhes que eram bons companheiros e que o seu trabalho fazia-os melhores do que os Superiores.
E então ele explicou:
— Veja, há outro carregamento de granito e aço para o novo teatro e teremos que alterar a distribuição da energia. Está ficando muito difícil fazê-lo. Os Superiores se recusam a escutar-nos.
— Ora, acho que vocês devem forçá-los a escutarem vocês.
Não obstante, naquele momento apenas puseram-se a fitá-lo. Então uma ideia penetrou sorrateiramente na mente inconsciente de Platt.
Leo Spinney aguardava-o no andar de cristal. Tinha a mesma idade de Plat, só que era um pouco mais alto e simpático. O rosto de Plat era magro, os olhos azuis acinzentados e jamais sorria, ao passo que Spinney tinha nariz reto, olhos castanhos escuros que pareciam sorrir constantemente.
Spinney alegou:
— Perderemos o jogo.
— Não quero ir, Leo, por favor.
Spinney perguntou:
— Com os técnicos, novamente? Por que desperdiçar seu tempo?
Plat retrucou:
— Eles trabalham. Respeito-os. Que direito temos à ociosidade?
— Devo formular perguntas sobre o que o mundo é, quando ele me serve tão bem?
— Se não o fizer, alguém vai formulá-las por você, algum dia.
— Algum dia e não neste dia. E, francamente, é melhor você vir. O Sekjen tem notado que você jamais comparece aos jogos e não gosta disso. Pessoalmente, penso que as pessoas andam contando a ele sobre as suas conversas com os técnicos e suas visitas à Superfície. Ele poderia até mesmo ser levado a imaginar que está consorciado com os Inferiores.
— Spinney deu uma estrepitosa gargalhada, mas Plat nada disse. Não lhes traria nenhum dano se se ligassem um pouco mais aos Inferiores, se aprendessem algo do modo de pensar deles. Atlântida possuía armas e Batalhões de Ondas. Aprenderia algum dia que estas coisas não bastavam. Não eram suficientes para salvar os Sekjen.
Os Sekjen! Plat sentiu vontade de cuspir. O título completo era “Secretaria Geral das Nações Unidas”. Dois anos atrás havia sido um gabinete eletivo, muito honrado. Agora, um homem como Guido Garshthavastra podia ocupá-lo, porque podia provar que era o filho do igualmente inútil pai.
“Guido G.” era como os Inferiores da Superfície o denominavam. Geralmente, com amargura, “Shah Guido G.”, porquanto “Shah” havia sido o título de uma linhagem de despóticos imperadores orientais. Os Inferiores conheciam-no pelo que era. Plat quis dizê-lo a Spinney, mas ainda não havia chegado a hora.
Os Jogos reais eram realizados na estratosfera superior, uma centena de milhas acima de Atlântida, muito embora a própria Ilha-Céu pairasse a vinte milhas acima do nível do mar. O enorme anfiteatro estava lotado e o luminoso globo no centro atraía todos os olhos. Cada diminuto cruzador individual, lá em cima, era representado pelo seu próprio símbolo luminoso, na cor que pertencia à frota de que fazia parte. As pequenas centelhas reproduziam em exatas miniaturas os movimentos das naves.
O jogo estava começando no momento em que Plat e Spinney ocupavam seus respectivos lugares. Os pequeninos pontos já se deslocavam como relâmpagos, uns contra os outros, ziguezagueando, errando o alvo, desviando-se uns dos outros.
— Um enorme placar proclamava o progresso do combate numa simbologia convencional que Plat não conseguia entender. Havia aplausos confusos para cada uma das frotas e para naves particulares.
Lá em cima, sob um dossel, estava o Sekjen, o “Shah Guido G.”, dos Inferiores. Plat mal podia vê-lo, mas conseguia distinguir claramente a réplica menor do jogo do globo que lá estava para o seu uso particular.
Plat estava assistindo o jogo pela primeira vez. Não entendia nada dos aspectos mais sutis do mesmo e espantava-se com o motivo dos gritos individuais. Compreendia, contudo, que os pontinhos representavam naves e que os fluxos luminosos que emanavam deles em frequentes ocasiões significavam raios energéticos que, a uma centena de milhas lá em cima, eram tão reais como os cintilantes átomos conseguiam fazê-los. Cada vez que se acendia um pontinho, havia um alarido na plateia, o qual se transformava num grande lamento, à medida que o ponto-alvo se desviava e escapava.
Houve então um brado geral e a audiência, homens e mulheres, até o próprio Sekjen, puseram-se de pé, com dificuldade. Um dos pontinhos brilhantes havia sido atingido e descia — em espiral. A uma centena de milhas acima, uma nave de verdade estava fazendo o mesmo: mergulhando no espesso ar que se aqueceria e consumiria a concha de liga de magnésio especial desenhada transformando-a em cinza inofensiva antes mesmo que esta conseguisse atingir a superfície da Terra.
Plat virou o rosto.
— Vou andando, Spinney.
Spinney estava olhando o seu placar individual. Disse:
— Com esta, são cinco as naves que os ‘Verdes” perderam esta semana. Temos de conseguir mais — estava de pé, berrando incontrolavelmente:
— Mais uma!
A plateia repetiu o grito, berrando-o em coro.
Plat disse:
— Um homem morreu naquela nave.
— Decerto. E é também um dos melhores dos “Verdes”. Ótimo.
— Compreende que morreu um homem?
— Ora, trata-se apenas dos “Inferiores”. O que o está afligindo?
Plat abriu caminho devagar nas fileiras de pessoas. Alguns olhavam-no e resmungavam. A maioria, contudo, não tinha os olhos para outra coisa que não o jogo. Havia perfume ao seu redor e ele ouvia, ocasionalmente, na distância, entre os gritos, o débil som de música. No momento em que passava pela porta de saída de emergência, um berro, às suas costas, estremeceu o ar.
Plat lutou tenazmente para conter a náusea.
Caminhou umas duas milhas e então parou.
Longarinas de aço estremeciam na extremidade de vigas magnéticas e som rouco de ordens sendo gritadas no sotaque de Inferiores enchia o ar.
Havia sempre construções em andamento em Atlântida. Duzentos anos atrás, quando Atlântida tinha sido a sede genuína do governo, o estilo das construções havia sido retilíneo e, os espaços, amplos. Agora, no entanto, eram bem mais do que isso. Era a cúpula do prazer Xanadu, mencionado por Coleridge.
O teto de cristal havia sido elevado e ampliado muitas vezes nos últimos dois séculos. Fora engrossado cada vez mais para que Atlântida pudesse crescer com segurança cada vez maior, não obstante os possíveis impactos dos cristais meteóricos ainda não inteiramente queimados pela insignificante camada de ar.
E, à medida que Atlântida se tornava mais fútil e mais atraente, cada vez mais os Superiores deixavam as fazendas e fábricas nas mãos de gerentes e capatazes para montarem residências permanentes na Ilha-Céu. Tudo em construções maiores, mais elevadas e mais sofisticadas.
Lá estava mais uma estrutura.
As Ondas estavam de pé, ao lado, em estólida e disciplinada obediência. O nome aplicado às mulheres — se pudessem ser chamadas assim, pensou Plat azedamente — fora tomado do inglês primitivo nos dias em que a Terra se dividia em Nações. Ali também a conversão e a degeneração haviam levado a melhor.
As velhas Ondas haviam cuidado da papelada que precedia as construções. Estas criaturas, denominadas “Ondas”, eram soldados de linha de frente.
Plat sabia que fazia sentido. Devidamente ensinadas, as mulheres eram mais honestas, mais fanáticas, menos dadas a dúvidas e ao remorso do que qualquer homem.
As “Ondas” estavam sempre presentes no palco das construções, porque estas eram feitas pelos Inferiores e estes, em Atlântida, tinham de ser protegidos, da mesma maneira como os da Terra precisavam ser intimidados. Nos últimos cinquenta anos, a artilharia atômica de longo alcance, alinhada na face inferior de Atlântida, havia duplicado e triplicado.
Ele ficou observando a longarina baixar lentamente, enquanto dois homens berravam ordens um ao outro, no momento em que ela estava sendo colocada na base. Dentro em breve, não haveria mais espaço para novos prédios em Atlântida.
A ideia que havia cutucado seu subconsciente no início do dia roçou de leve seu consciente.
As narinas de Plat se dilataram.
O nariz de Plat retorceu-se ao cheiro de Óleo e maquinaria. Muito mais que os Superiores estragados pelo perfume, estava habituado a todo tipo de odores. Estivera na Superfície e sentira o cheiro acre de seus campos de cultivo e do fumo de suas cidades. Disse ao técnico:
— Estou pensando seriamente em construir uma nova casa e gostaria de seu conselho quanto à melhor localização possível.
O técnico alegrou-se e admirou-se ao mesmo tempo:
— Obrigado, Superior. Tem sido tão difícil conseguir potência disponível.
— Eis por que recorri a você.
Conversaram algum tempo. Plat fez incontáveis perguntas e quando retornou à plataforma de cristal sua mente era um labirinto de especulações.
Decorreram dois dias na agonia da dúvida. Recordou-se então do pontinho brilhante, caindo em espiral, e dos olhos jovens, interrogativos, encarando os seus, no momento em que Spinney declarou:
— São apenas Inferiores.
Tomou uma decido e pediu audiência com Sekjen.
A voz arrastada de Sekjen acentuava ainda mais o aborrecimento que ele não fazia questão de ocultar. Disse:
— Os Plats descendem de boa família e no entanto você se diverte com os técnicos. Contaram-me que fala com eles de igual para igual. Espero que não seja necessário lembrá-lo que suas propriedades na Superfície requerem cuidados.
O que, era óbvio, teria significado o exílio de Atlântida.
Plat disse:
— É preciso vigiar os Peritos, Senhor. São descendentes dos Inferiores.
Sekjen franziu as sobrancelhas:
— Nossa Onda Comandante está a postos. Ela cuida de tais assuntos.
— Faz o melhor que pode, não tenho dúvidas, Senhor. No entanto, fiz amizade com os Peritos. Não estão em segurança. Teria eu outra razão para sujar as mãos com eles, não fosse pela segurança de Atlântida?
Sekjen escutou-o, tomado de dúvidas, inicialmente. Mas, então, com o medo estampado no rosto calmo, disse:
— Mantê-los-ei sob custódia...
— Devagar, Senhor — insistiu Plat. — Entretanto, não podemos passar sem eles visto que nenhum de nós é capaz de construir armas e engenhos antigravitacionais. Seria melhor não lhes dar a oportunidade de uma rebelião. Dentro de duas semanas o novo teatro será inaugurado com jogos e festas.
— E o que pretendem, então?
— Ainda não sei ao certo, Senhor. Sei, contudo, o bastante para recomendar o envio de uma divisão de Ondas a Atlântida. Secreta- mente, é claro, e à última hora, de modo que seja excessivamente tarde para os amotinados modificarem qualquer plano que tenham feito. Terão que abandoná-lo completamente e, no momento opor- tino, uma vez desorientados, jamais conseguirão recobrar-se. Depois disso, informar.meei de mais algumas coisas. Treinaremos novos homens, caso necessário. Seria lastimável, Senhor, contar antecipadamente a quem quer que seja a respeito disto. Se os Peritos tomarem conhecimento prematuramente das nossas medidas defensivas, as coisas podem ir de mal a pior.
O Sekjen, com a mão cheia de joias encostada ao queixo, pôs-se a cismar e acreditou.
Shah Guido G., pensou Philo Plat. Entrará para a Historia como Shah Guido G.
Philo Plat ficou à distância apreciando a alegria. As praças centrais de Atlântida estavam enegrecidas de tanta gente. Muito bom. Ele mesmo conseguiria escapar com dificuldade. E ninguém sairia dali antes do tempo, porquanto a Divisão de Ondas já havia forrado o firmamento com suas naves.
Estavam então manobrando lateralmente, tomando posição final sobre o imenso campo de pouso elevado de Atlântida, o qual tinha capacidade para receber todas as suas naves a um só tempo.
— Os cruzadores desciam então verticalmente, m formação de desfile. Plat deu uma rápida vista de olhos pela cidade. A população havia-se aquietado um pouco mais, assistindo à demonstração não programada e dava a impressão de nunca ter avistado ao mesmo tempo tantos Superiores no firmamento da Ilha-Céu. Por um momento, houve uma última apreensão. Ainda havia tempo para um aviso.
A despeito da crença de que havia, não houve. Os cruzadores estavam descendo rapidamente. Plat teria que apressar-se se quisesse escapar em sua própria pequena nave. Imaginou, angustiado, se seus amigos da Superfície teriam recebido o aviso da véspera, ou se lhe dariam crédito, caso o tivessem recebido. Se as naves não conseguissem agir rapidamente, os Superiores ainda conseguiriam se recuperar do primeiro ataque, por mais devastador que fosse.
Ele estava no ar no momento em que as “Ondas” aterraram, mais de sete mil e quinhentas espaçonaves em forma de gotas cobrindo o campo de pouso tal qual rede descendente. Plat dirigiu a nave para o alto... assistindo...
Atlântida escureceu, como uma vela subitamente abafada por enorme mão em concha! No primeiro instante, a noite tornou-se inflamada, brilhando cinquenta milhas em derredor; no instante seguinte, tornou-se escura em contraste com as trevas.
Para Plat, os milhares de gritos fundiram-se num só grito agudo, perdido, de medo. Ele fugiu e as vibrações dó impacto de Atlântida com a Terra atingiram a nave e lançaram-na à distância.
Plat deixou de ouvir o grito.
Fulton tinha os olhos fitos em Plat e perguntou:
— Já contou isso a alguma pessoa?
Plat abanou negativamente a cabeça.
A mente de Fulton também recuou um quarto de século atrás:
— É claro que recebemos o seu recado. Foi duro acreditar, como você mesmo esperava. Muitos temiam uma cilada, mesmo depois da chegada do relato da Queda. Mas... então, isto é a História. Os Superiores que restaram, os da Superfície, ficaram desmoralizados e, antes que pudessem se recuperar, foram derrotados
— Mas, diga-me — voltou-se para Plat com súbita e cruel curiosidade: — O que é que você fez? Sempre fomos de opinião que sabotou as estações de força.
— Sei disso. A verdade é muito menos romântica, Fulton. O mundo costuma acreditar em seus mitos. Esqueça-os.
— Posso conhecer a verdade?
— Se quiser. Como lhe disse, os Superiores construíram ao ponto de saturação. Os raios energéticos antigravitacionais tinham de suportar um peso em construções, armas e as conchas-envoltório que duplicaram e triplicaram com o correr do tempo. Todas as solicitações que os Peritos pudessem ter feito no sentido de conseguirem motores mais novos e maiores foram recusadas, já que os Superiores preferiam ter espaço e dinheiro para mansões e sempre havia suficiente força no momento. — Os peritos, como mencionei, haviam chegado a tal ponto que se perturbavam com a construção de um único prédio. Interroguei-os e descobri com exatidão a pequena margem de segurança que restava. Estavam tão-somente esperando a conclusão de um novo teatro para fazerem nova solicitação. Não se compenetraram, contudo, que, mediante sugestão de minha parte, Atlântida seria forçada a sustentar a súbita carga adicional de uma divisão de Cavalaria de Ondas em suas espaçonaves; sete mil e quinhentas naves, totalmente equipadas! Quando as Ondas aterraram, então quase duas mil toneladas, o suprimento de força antigravitacional sobrecarregou-se. Os motores entraram em pane e Atlântida transformou-se simplesmente numa enorme rocha, dez milhas acima do nível do solo. O que poderia uma tal rocha fazer, senão cair?
Plat levantou-se. Juntos retornaram à sua nave.
Fulton gargalhou asperamente.
— Sabe, há uma fatalidade nos nomes.
— O que quer dizer?
— Ora. Que, uma vez mais na História, Atlântida desapareceu sob as Ondas.
Agora, que acabaram de ler a história, aperceber-se-ão que tudo é feito com vistas ao hediondo trocadilho, certo? Com efeito, alguém se aproximou de mim e, com profundo desgosto na voz, comentou:
— Ora, “Shah Guido G?’ não passa de uma história de “shaggydog” — (pretensiosa).
— Certo — retruquei — mas se dividir em duas partes o título, em vez de três, forma “Sha-Gui-Do”, e acha que não percebi isso?
Em outras palavras o título é também um trocadilho.
Estando David em desenvolvimento, não poderíamos, obviamente, continuar naquele inconcebível apartamento de Somerville. Uma vez que eu já sabia dirigir, já não dependíamos tanto da linha de ônibus e poderíamos dar uma melhor olhada na região. Na primavera de 1951 mudamo-nos portanto para um apartamento em Waltham, Massachusetts. Era um apartamento muito melhor que o primeiro, apesar de ser igualmente quente no verão.
Havia duas pequenas estantes embutidas, na sala de estar do apartamento, e comecei a utilizá-las para a minha coleção de livros próprios, dispondo-os em ordem cronológica. Cheguei a dezessete livros, enquanto permaneci no apartamento. Quando o meu Manual de Bioquímica foi publicado, em 1952, coloquei-o com os demais em ordem apropriada. Não recebeu qualquer tratamento preferencial. Não conseguia ver em que sentido um manual científico poderia exigir mais atenção do que uma novela de ficção científica.
Na verdade, se eu tinha quaisquer ambições, não eram decerto a respeitabilidade de um livro. Eu continuava desejando escrever coisas cômicas.
No entanto, o humor é uma coisa engraçada...
Pois bem, o humor é algo muito estranho, quando não se nutrem preconceitos contra um espirituoso jogo de palavras. Não há jeito de alguém ser quase engraçado, um pouco engraçado, ou razoavelmente engraçado. Ou se é engraçado, ou não se é engraçado. Não existe nada de permeio. Dum modo geral, é o escritor que se julga engraçado, ao passo que o leitor acha que ele não é.
Então, obviamente, o humor é algo que a pessoa deveria manejar com cautela, particularmente fios primeiros tempos de sua carreira, quando ainda não aprendeu a lidar com seus instrumentos. Contudo, quase todo escritor em início de carreira faz uma experiência com o humor, convencido de que é algo fácil de fazer.
Não fiz exceção à regra. Ao tempo em que havia composto e entregue quatro contos e não tinha, até então, vendido nenhum deles, havia sentido a necessidade de escrever uma história cômica. E foi o que fiz. Chamou-se “Anel em Tomo do Sol” — Ring Around the Sun” — algo que efetivamente consegui vender e que eventualmente foi incluído em O Futuro Começou.
Não o considerei um sucesso cômico, mesmo na época em que foi escrito; tampouco achei que várias outras histórias cômicas com que havia feito experiências foram engraçadas de verdade, tais como “Natal em Ganimedes” — “Christmas on Ganymede” –, também inclusa em O Futuro Começou e “Robô AL-76 Extravia-se” — “Robot AL.76 Goes Astray” –, incluído em O Resto dos Robôs (The Rest of Robots).
Apenas em 1952 (somente no meu entender, nada digo com respeito ao modo de vocês julgarem), consegui êxito. Compus duas histórias: “Botão, Botão” (“Button, Button”) e “O Dedo do Macaco” (“The Monkey’s Finger”), nas quais senti de modo definitivo que conseguira acertar. Ria o tempo todo em que estava escrevendo cada uma delas e consegui descarregar ambas em Starlings Stories, onde apareceram em números seguidos. “Botão, Botão” apareceu no número de janeiro de 1953 e “O Dedo do Macaco” no número de fevereiro.
Gentil leitor, caso não as ache engraçadas, faça o possível por não me dizer. Deixe-me com as minhas ilusões.
Botão, botão
Foi a casaca que me iludiu e, durante dois segundos, não consegui reconhecê-lo. Para mim, tratava-se tão-somente de um cliente em perspectiva, o primeiro que havia bafejado o meu escritório em uma semana — e era lindo.
Mesmo envergando uma casaca às nove e quarenta e cinco da manhã, era lindo. Dezoito centímetros de pulsos ossudos e trinta centímetros de mãos nodosas continuavam onde terminavam as mangas; o alto das meias e a barra das calças não chegavam a um acordo; ainda assim estava lindo.
Olhei então para o rosto, e não era nenhum cliente. Era o meu tio Otto. Acabou-se a lindeza. Dum modo geral, o rosto de meu tio Otto assemelhava-se à cara de um sabujo que acabara de levar, do- seu melhor amigo, um pontapé no traseiro.
Não fui muito original em minha reação. Exclamei:
— Tio Otto!
Você também o reconheceria se lhe visse o rosto. Quando saiu destacado na capa da revista Time há cinco anos (foi em 57 ou 58), 204 leitores enviaram cartas afirmando que jamais esqueceriam aquele rosto. Muitos acrescentaram comentários relacionados com pesadelos. Caso queira, o nome completo de meu tio Otto é Otto Schlemmeelmayer. Mas não se apresse em tirar conclusões. É irmão de minha mãe. O meu nome é Smith.
Berrou:
— Harry, rapaz! — e deu um resmungo.
Interessante, mas não esclarecedor. Perguntei:
— Por que o traje a rigor?
Respondeu:
— É de aluguel.
— Muito bem, mas por que o usa de manhã?
— Já é manhã? — olhou em volta, com olhos arregalados. Aproximou-se então da janela e olhou para fora.
Assim é meu tio Otto Schlemmeelmayer.
Afiancei-lhe que era manhã e ele, com esforço, deduziu que devia ter estado caminhando pelas ruas da cidade a noite toda.
Afastou a mão nodosa da testa e disse:
— Mas eu estava tão transtornado, Harry. No banquete...
Durante cerca de um minuto contorceu os dedos e depois fecharam-se, formando um quarto de pulso que desceu e quase fez um buraco no tampo da mesa.
— Mas é o fim. Doravante farei as coisas do meu modo.
Meu tio Otto vinha dizendo sempre a mesma coisa, desde que havia iniciado o “Efeito Schlemmeelmayer”. Pode ser que isso o surpreenda. Talvez pense que foi o “Efeito Schlemmeelmayer” que notabilizou o meu tio Otto. Bem, tudo depende de como se encara a coisa.
Ele descobriu o Efeito em 1952, e a verdade 6 que vocês devem estar mais a par disso que eu. Em resumo, planejou um relê de germânio de natureza tal que reagisse a ondas de pensamento, ou enfim, aos campos eletromagnéticos das células cerebrais. Trabalhou durante anos para transformar o tal relê em flauta, de forma que emitisse música sob a pressão das ondas do pensamento. Era a sua paixão, sua vida; haveria de revolucionar a música. Qualquer pessoa poderia fazer música; não havia necessidade de talento.. somente pensamento.
Foi daí que, há cinco anos, um jovem camarada da “Armas Consolidadas”, Stephen Wheland, modificou o “Efeito Schlemmeelmayer”, invertendo.o. Desenvolveu um campo de ondas supersônicas que podiam ativar o cérebro via germânio-relê, eletrocutá-lo e matar um rato de uma distância de aproximadamente 6 metros. Descobriram, mais tarde, que também podia matar um homem.
Depois disso, Wheland ganhou um prêmio de dez mil dólares e promoção e os principais acionistas de “Anuas Consolidadas” prosseguiram faturando milhões quando o governo comprou as patentes e fez encomendas.
E meu tio Otto? Saiu na capa do Time.
Depois, todos os que se aproximavam dele, percebiam de longe que guardava uma mágoa. Alguns atribuíam-na ao fato de não ter ganho nenhum dinheiro; outros, pelo fato de sua invenção ter-se tornado um instrumento de guerra e matança.
Bobagens! Era a flauta! Era o verdadeiro prego na cadeira de sua vida. Pobre tio Otto. Amava sua flauta. Trazia-a sempre consigo, sempre disposto para uma demonstração. A flauta permanecia em repouso no recosto da cadeira, enquanto ele comia, e aos pés da cama, enquanto dormia. As manhãs de domingo nos laboratórios de física da universidade eram terríveis, mercê dos sons da flauta de meu tio Otto, sob imperfeito controle mental, executando tediosamente alguma plangente canção do folclore alemão.
O problema era que nenhum produtor deitava mãos nela. Assim que tua existência veio a lume, o sindicato dos músicos ameaçou fazer calar todos os músicos menores da terra; numerosas indústrias de diversões convocaram o seu pessoal e dividiram-se em brigadas para a pronta ação. Até mesmo o velho Pietro Faranini meteu a batuta atrás da orelha e fez inflamadas declarações aos jornais a respeito da morte iminente da Arte.
E o tio Otto jamais se recuperou.
Estava dizendo:
— Ontem acabaram com as minhas últimas esperanças. A “Consolidadas” afirma que vai dar um banquete em minha homenagem. Quem sabe? — perguntou-me. — Talvez comprem a flauta. — Quando se emociona, as palavras do meu tio tendem a alternar-se entre o inglês e o alemão.
O quadro intrigou-me.
— Que ideia — comentei eu. — Milhares de flautas gigantescas ocultas em pontos chaves do território inimigo tocando comerciais chatos para...
— Cale-se! Cale-se! — meu tio bateu com a palma da mão sobre a mesa produzindo um estampido. O calendário plástico deu um pulo de medo e caiu danificado no chio.
— Também você troça de mim?
— Desculpe, tio Otto.
— Então, preste atenção. Compareci ao banquete. Discursaram sobre o “Efeito Schlemmeelmayer” e de que maneira utilizava o poder da mente. Em seguida, quando pensei que anunciariam que estavam dispostos a comprar minha flauta, deram-me isto.
Apresentou-me o que parecia ser uma peça de ouro no valor de dois mil dólares e me atirou. Esquivei-me.
Se tivesse alcançado a janela, teria saído por ela e esmigalhado a cabeça de algum transeunte. Bateu, porém, na parede. Ergui-a. Dir-se-ia, pelo peso, que era apenas dourada. No verso, em grandes letras, lia-se a inscrição ‘Prêmio Elias Bancroft Sudford” e, em pequenas letras, lia-se “ao Dr. Otto Schlemmeelmayer, por sua contribuição para a Ciência”. No anverso, havia um perfil, que obviamente não era o do meu tio Otto. De fato, nem parecia nenhuma raça de cão, mas, muito provavelmente, alguma espécie de suíno.
— Este — anunciou o tio Otto — é Elias Bancroft Sudford, presidente da “Armas Consolidadas”
Prosseguiu;
— De modo que, quando vi que era só isso, levantei-me e disse com muita educação: “Morram, cavalheiros” e saí.
— Em seguida, perambulou pelas ruas a noite inteira — completei para ele — e veio parar aqui sem mudar as roupas. Ainda está de traje a rigor.
Meu tio estendeu um dos braços e contemplou sua vestimenta. — Traje a rigor? — perguntou.
— Sim, traje a rigor — ecoei.
As bochechas caídas, cheias de papadas, mancharam-se de vermelho quando ele bradou:
— Vim para cá para tratar de uma coisa de suma importância e você insiste em falar sobre nada que não seja um traje a rigor? O meu próprio sobrinho!
Deixei que o fogo se extinguisse. O tio Otto é o gênio da família, de forma que, exceto se for para livrá-lo de cair em algum buraco ou saltar de alguma janela, não o importunamos.
Perguntei:
— Em que lhe posso ser útil, tio?
Tentei soar como se fosse um caso de negócios. Esforcei-me para introduzir o relacionamento advogado-cliente.
Esperou impressivamente e então disse:
— Necessito de dinheiro.
Tinha vindo ao lugar errado. Expliquei-lhe:
— Tio, no momento não tenho.
— Não é de você — disse ele.
Senti-me melhor.
Prosseguiu:
— Há um novo “Efeito Schlemmeelmayer”. Melhor. Este não irá aparecer em publicações de jornais especializados em Ciência. Vou calar o bico. Ele é todinho meu — enquanto falava, regia uma orquestra-fantasma com os punhos ossudos.
— Com o novo “Efeito” — prosseguiu — ganharei dinheiro para abrir a minha própria fábrica de flautas.
— Ótimo — ponderei, mentindo por não imaginar a fábrica.
— No entanto, não sei como.
— Péssimo — tomei eu, mentindo, imaginando a tal fábrica.
— O problema está na minha brilhante inteligência. Sou capaz de desenvolver conceitos fora do alcance das pessoas comuns. Acontece, porém, Harry, que sou incapaz de desenvolver meios de ganhar dinheiro, O que me falta é talento.
— Muito mal — disse eu, sem nenhuma mentira.
— E assim vim procurá-lo como advogado.
Dei uma risadinha, uma nadinha depreciadora.
— Procurei-o — prosseguiu — para convencê-lo a ajudar-me com o seu cérebro mentiroso, desonesto, ladrão e trapalhão de advogado.
Arquivei mentalmente o comentário, de elogios tão inesperados, e retruquei:
— Também gosto de você, tio Otto.
Ele deve ter sentido o sarcasmo, pois ficou vermelho de raiva e rugiu:
— Não s tio melindroso. Seja como eu: paciente, compreensivo e despreocupado, seu imbecil. Quem diz alguma coisa de você, como homem? Como homem você é um imbecil honesto, mas como advogado tem de ser trapalhão. Todo mundo sabe disso.
Suspirei. A “Associação de Bares” advertira-me de que haveria dias como estes.
— Qual é o seu novo Efeito, tio Otto? — perguntei.
Respondeu:
— Sou capaz de recuar no tempo e trazer coisas do passado.
Agi rapidamente: com a mão esquerda tirei o relógio do bolso inferior do colete e consultei-o com toda a ansiedade que fui capaz de simular, Levei a mão direita ao telefone.
— Bem, tio Otto — disse eu animadamente. — Acabo de me lembrar de um compromisso extremamente importante para o qual já estou horas atrasado. É sempre um enorme prazer vê-lo. Agora, sinto muito, mas preciso despedir-me de você. Sim, senhor, sempre é um grande prazer vê-lo. Bem, então, até logo. Sim, senhor...
Não consegui retirar o fone do gancho. Estava manobrando direitinho, mas a mão do tio Otto estava sobre a minha, forçando-a para baixo. Não havia o que discutir. Já lhes contei que meu tio em certa ocasião fez parte do grupo de Luta Romana de Heidelberg, em 1932?
Segurou-me delicadamente o cotovelo (para ele) e eu fiquei de pé. Foi uma grande economia de esforço físico (para mim).
— Vamos ao meu laboratório.
Ele foi para o laboratório. E, visto que eu não estava munido de faca nem disposto a cortar o braço na altura do ombro, também fui para o laboratório dele.
O laboratório de tio Otto fica no fim de um corredor, numa esquina de um dos prédios da universidade. Desde que o Efeito Schlemmeelmayer se revelara algo fora do comum, Otto fora liberado de todo trabalho rotineiro e deixado a sós. O laboratório transmitia tal impressão.
Pasmei:
— Não mais mantém a porta trancada?
Olhou-me de esguelha, torceu o nariz e fungou:
— Está trancada. Trancada com um relê Schlemmeelmayer. Penso uma palavra e ela se abre. Sem isto, ninguém consegue entrar. Nem mesmo o reitor da universidade ou o zelador.
Entusiasmei-me um pouco:
— Grande arma, tio Otto, Uma fechadura-pensamento poderia...
— Oh, devo vender a patente a algum ricaço? Depois da noite passada? Nunca. Por ora, eu mesmo ficarei rico.
Uma observação a respeito de meu tio Otto: não é um desses indivíduos com quem a gente precisa discutir interminavelmente, até que veja a luz. Compreende-se, de antemão, que ele jamais verá.
Em vista disso, desconversei. Perguntei:
— E a Máquina do Tempo?
Tio Otto é cerca de trinta centímetros mais alto que eu, e uns dezoito quilos mais pesado, forte como um touro. Quando põe a mão em torno do meu pescoço e o sacode, tenho que limitar-me a ficar azulado, que é a parte que me sobra no conflito.
E fiquei devidamente azulado.
Advertiu-me:
— Psiu!
Entendi perfeitamente a ideia.
Desabafou dizendo:
— Ninguém está a par do Projeto X — repetiu, pesadamente. — O Projeto X, compreendeu?
Assenti, balançando a cabeça. Não conseguia responder com palavras, por causa da minha laringe que estava se recompondo aos poucos.
Disse ele:
— Não vou pedir que acredite na minha palavra. Farei uma demonstração para você.
Tentei postar-me,ao lado da porta.
Pediu-me:
— Tem um pedaço de papel escrito na sua própria caligrafia?
Cisquei no bolso interno do paletó. Tinha anotações para um possível depoimento, para um provável cliente, para algum possível dia.
Tio Otto disse:
— Não mo mostre. Rasgue-o, simplesmente. Reduza-o a pedacinhos e coloque-o nesta proveta.
Piquei o papel em cento e vinte e oito pedacinhos.
Considerou-os refletidamente e começou a ajustar os botões de uma... bem, uma máquina. Uma grossa placa de vidro, que lembrava bandeja de dentista, estava ligada a ela.
Houve um período de espera. Ele continuava a ajustar.
Em seguida exclamou:
— Aha!
Soltei um som estranho que não pôde ser traduzido por palavras.
Cerca de uns sete centímetros acima da bandeja havia algo parecido com papel felpudo. Este entrou em foco enquanto eu observava e... ora, bem, por que dar tanta importância a isso? Eram as minhas anotações. Minha caligrafia. Perfeitamente legítima, perfeitamente legível.
— Posso tocá-lo? — as minhas palavras saíram um pouco roucas, em parte devido ao meu pasmo e em parte por causa dos delicados métodos de Otto garantir o segredo.
— Não — disse ele, e passou a mão através dele. O papel permaneceu incólume. Emendou: — Trata-se apenas de uma imagem num foco paraboloide de quatro dimensões. O outro foco está num ponto do tempo anterior ao momento em que rasgou o papel em pedacinhos.
Passei também a mão através do papel. Não senti coisa alguma.
— Observe agora — disse ele.
Virou um botão da máquina e a imagem do papel desapareceu. Tirou então uma folha de papel de um maço, colocou-a no cinzeiro e encostou-lhe um fósforo aceso. Jogou as cinzas na pia. Virou novamente um botão e o papel apareceu, somente com uma diferença. Não existiam remendos nele.
— Os pedaços queimados? — perguntei.
— Exatamente. A máquina deve traçar no tempo os hipervetores das moléculas sobre as quais é focalizada. Se certas moléculas estão no ar disperso... pft..
Tive uma ideia.
— Suponhamos que tinha as cinzas de um documento.
— Somente aquelas moléculas seriam rastreadas no passado.
— E contudo seriam tão bem distribuídas — salientei — que se conseguiria um quadro obscuro do documento inteiro.
— Hummm... talvez.
A ideia tornou-se mais empolgante.
— Sabe, tio Otto. Imagine quanto o Departamento de Policia pagaria por uma máquina como esta. Seria um privilégio para o...
Calei-me. Não gostei do jeito como o corpo dele estava enrijecendo. Perguntei com suavidade:
— O que estava dizendo, tio Otto?
Falou com extrema calma sobre o assunto. Faltou pouco para que berrasse:
— De uma vez por todas, sobrinho. Daqui por diante, eu mesmo quero desenvolver cada uma de minhas invenções. Em primeiro lugar, preciso conseguir algum capital. Capital cuja fonte não seja a venda de minhas ideias. Isto em primeiro lugar. Em seguida, com os lucros, verei se conseguirei montar uma máquina de vetores. Mas, antes de tudo, as minhas flautas. Antes de tudo, minhas flautas. Ontem à noite fiz um juramento. Por causa do egoísmo de alguns, o mundo da música perdeu grandes músicos. Será que o meu nome entrará para a História como o nome de um assassino? Será o Efeito Schlemmeelmayer um modo de eletrocutar cérebros humanos? Ou trará ele deliciosa música aos espíritos? Música maravilhosa, de primeira qualidade, excelente?
Tinha uma das mãos erguida profeticamente e, a outra, às costas. As janelas emitiam um zumbido agudo ao vibrarem com as palavras dele.
Falei então atabalhoadamente:
— Tio Otto, vão ouvir as suas palavras.
— Então pare de gritar — respondeu ele.
— Mas... — protestei. — Como planeja conseguir o capital inicial se não tem em mente a exploração da máquina?
— Não lhe contei. Posso produzir uma imagem de verdade. E que tal se ela for valiosa?
Aquilo pareceu bom.
— Refere-se a documentos perdidos, manuscritos, primeiras edições... coisas deste naipe?
— Bem, não. Há uma dificuldade, duas dificuldades e três dificuldades.
Esperei que parasse de enumerá-las, mas três era o limite.
— Quais são elas? — perguntei.
Explicou:
— Em primeiro lugar, preciso ter presente o objeto a ser focalizado, ou não poderei rastreá-lo no passado.
— Está dizendo que não consegue nada que não exista agora mesmo onde possa ser visto?
— Exatamente.
— Neste caso, as dificuldades duas e três são puramente acadêmicas. Mas, afinal, quais são?
— Posso remover somente pouco mais de um grama do material do passado.
— Um grama! A trigésima parte de uma libra?
— O que há? Não é bastante força?
Tio Otto discorria impacientemente:
— Trata-se de um relacionamento exponencial às avessas. Não poderiam ser traduzidos mais do que dois gramas de potência de todo o universo. Possivelmente.
Aquilo toldou as coisas. Perguntei:
— E a terceira dificuldade?
— Bem... — hesitou. — Quanto mais distanciados os dois focos, mais flexível o elo. Deve ocorrer algum tempo antes que o passado possa ser inserido no presente. Em outras palavras, devo penetrar pelo menos cento e cinquenta anos no passado.
— Compreendo — disse eu (não que compreendesse mesmo).
— Agora, vamos sumariar.
Tentei expressar-me como advogado:
— Deseja trazer coisas do passado, através do que pretende ganhar um pouco de dinheiro. Tem de ser algo existente e que possa ser visto. Assim sendo, não pode ser um objeto perdido de valor histórico ou arqueológico; tem que pesar menos que um trigésimo de libra, portanto não pode ser o diamante Kullinan ou coisa parecida; tem de ter no mínimo cento e cinquenta anos de idade, logo não pode ser um selo raro.
— Exatamente — confirmou tio Otto. Você entendeu?
— Entendi o quê — refleti uns dois segundos. — Não consigo lembrar-me de nenhum objeto — disse-lhe. — Bem, tio Otto, até logo.
Não tinha a certeza de que ia dar certo, mas tentei ir embora.
Não deu certo. As mãos de tio Otto desceram sobre os meus ombros e fiquei na ponta dos pés, uns três centímetros e meio no ar.
— Vai me amarrotar o paletó, tio Otto.
— Harold — disse ele. — Na condição de um advogado tratando com um cliente, deve-me mais do que um adeus apressado.
— Ainda não recebi o sinal do pagamento dos meus honorários — gaguejei com muito custo.
O colarinho de minha camisa começava a estreitar.se violentamente em torno de meu pescoço. Tentei engolir em seco e o primeiro botão dela saltou.
Ele ponderou:
— Entre parentes, pagamento antecipado não passa de uma formalidade. Como cliente e tio, deve-me absoluta lealdade. Além disso, se não me ajudar a sair dessa, vou driblá-lo como se faz com uma bola de basquete.
Bem, como advogado que sou, costumo ceder à lógica. Supliquei:
— Desisto. Rendo-me. Venceu.
Largou-me.
Foi então que — esta é a parte que me parece mais inacreditável — tive uma ideia.
Uma ideia colossal. Fantástica. Uma daquelas que a gente tem uma só vez em toda a vida.
Não participei ao tio Otto tudo de uma vez. Queria alguns dias para meditar sobre ela. Disse-lhe, no entanto, o que fazer. Afirmei- lhe que teria que ir a Washington. Não foi fácil persuadi-lo a fazê-lo, mas, por outro lado, se conhecessem meu tio, saberiam que há meios de convencê-lo.
Encontrei duas notas de dez dólares espreitando tristonhamente do fundo da carteira e entreguei-as a ele.
Prometi:
— Farei um cheque para a passagem de trem e pode guardar as notas, se ficar demonstrado que estou sendo desonesto para com você.
Refletiu:
— Você não é nenhum otário para arriscar vinte dólares em nada — confessou ele.
E ele tinha razão...
Estava de volta em dois dias e declarou que o objeto estava sendo focalizado. Afinal, estava à vista do público. Num estojo impermeável, à prova de ar, cheio de nitrogênio, mas tio Otto garantiu que não fazia diferença. Daqui do laboratório, a quatrocentas milhas de distância, o enfocamento continuaria a ser acurado. Tio Otto em pessoa me garantiu.
Eu disse:
— Duas coisas, tio Otto, antes que façamos qualquer coisa.
— O que? O que? O quê? — e continuou um pouco mais: — O que? o quê? O quê?...
Deduzi que estava ficando impaciente e falei:
— Tem certeza de que, se trouxermos para o presente um pedaço de alguma coisa do passado, tal pedaço não desaparecerá do objeto existente em nossos dias?
Tio Otto estalou os grandes nós dos dedos e explicou:
— Estamos criando matéria nova, não roubando da velha. Por que precisaríamos de mais uma quantidade enorme de energia?
Passei ao segundo ponto importante:
–. E a respeito do sinal dos meus honorários?
Podem não acreditar, mas até então eu não tinha mencionado dinheiro; tampouco tio Otto, mas é que uma coisa puxa a outra.
Sua boca ampliou-se numa horrível imitação de sorriso afetuoso:
— Sinal?
— Dez por cento do lucro — expliquei. — É do que precisarei.
A papada dele caiu:
— Mas quanto é o lucro?
— Uns cem mil dólares, por aí... O que deixaria noventa mil dólares para você.
— Noventa mil dólares... Céus! Então, por que esperarmos?
De um salto aproximou-se da máquina e dentro de um minuto o espaço sobre a bandeja de dentista estava iluminado com uma imagem do pergaminho.
Este cobriu-se de uma escrita ordenada, estreitamente espaçada, assemelhando-se a unia matrícula para um antigo concurso de caligrafia. Surgiram nomes no rodapé do papel. Um grande e outros cinquenta e cinco menores.
Coisa estranha! Engasguei. Eu tinha visto inúmeras reproduções, mas aquilo era coisa legítima. A verdadeira Declaração da Independência.
Comentei:
— Macacos me mordam! Você conseguiu!
— E os cem mil? — perguntou tio Otto, indo diretamente ao assunto. Chegara o momento das explicações:
— Veja, tio Otto, há assinaturas no pé do documento. São os nomes de americanos insignes, pais da pátria, a quem todos reverenciamos. Qualquer coisa que diga respeito a eles é de interesse para todos os americanos autênticos.
— Muito bem — resmungou meu tio. — Faço acompanhamento para você, executando “Stars and Stripes Forever” ( hino à bandeira norte-americana) na minha flauta.
Desmanchei-me numa gargalhada apressada para mostrar que considerara unia piada aquela observação. Não valia a pena tomar em consideração uma piada alternativa. Já ouviu algum dia meu tio Otto tocar “Stars and Stripes Forever” na sua flauta?
Enfatizei:
— Mas um dos signatários do Estado da Geórgia morreu em 1777, um ano após ter assinado a Declaração. Como não deixou muitos vestígios de sua existência, amostras autênticas de sua assinatura estão entre as coisas mais preciosas do mundo. O nome dele era Button Gwinnett.
— De que modo isto nos ajuda a faturar? — perguntou meu tio, com o espírito fixado obstinadamente nas verdades eternas do universo.
— Escute — falei com simplicidade. — Trata-se de uma assinatura autentica, feita na vida real de Button Gwinnett, concernente à Declaração da Independência.
Tio Otto pasmou a ponto de ficar absolutamente sem fala. Conseguir silêncio absoluto do tio Otto tem que ser algo de causar pasmo mesmo!
Prossegui:
— Agora, veja, aqui mesmo, ao lado esquerdo do espaço para assinaturas, dois outros signatários pelo Estado da Geórgia, Lyman Hall e George Walton. Queira notar que amontoaram os nomes, muito embora houvesse espaço suficiente, tanto em cima como embaixo. Com efeito, a maiúscula inicial do “G” de Gwinnett desce até praticamente encontrar-se com o nome de Hall. Por que então não tenta separá-los? Obteríamos todos eles. Pode dar um jeito nisso?
Já viu algum dia um sabujo mostrando felicidade? Bem, foi o que meu tio Otto conseguiu.
No local em que se concentrava mais intensamente a luz, estavam os nomes dos três signatários georgianos.
Tio Otto comentou, quase sem fôlego:
— Nunca havia tentado antes.
— O quê? — berrei. — Só agora me conta.
— A gente teria que exigir um excesso de energia. Não queria que a Universidade fizesse investigações sobre o que estava se passando por aqui. Mas não se aflija! Minha matemática não pode falhar.
Orei silenciosamente para que a matemática dele não saísse errada
A luz ficou inala intensa e brilhante. Houve um zumbido que encheu o laboratório com um barulho rouco. Tio Otto girou um botão, outro e um terceiro...
Lembram-se daquela hora, algumas semanas atrás, quando toda a parte superior de Manhattan e do Bronx ficou sem eletricidade durante doze horas por causa da mais séria interrupção no fornecimento de energia elétrica, motivada por uma sobrecarga na principal central? Não direi que fizemos a mesma coisa, mas não estou disposto a ser processado por danos. Direi, contudo, o seguinte: a eletricidade desapareceu no momento em que tio Otto girou o terceiro botão. Todas as luzes se apagaram no interior do laboratório e vi-me no chão, com um horrível zumbido nos ouvidos. Meu tio estava atravessado de braços e pernas abertos sobre o meu corpo.
Ajudamo-nos mutuamente a pôr-nos em pé. Então meu tio pro. curou uma lanterna.
Soltou um uivo angustiado:
— Queimou! Queimou! Minha máquina está arruinada! Foi dedicada à destruição.
— Mas, e as assinaturas? — berrei-lhe na cara. — Conseguiu-as?
Parou em meio a um grito:
— Ainda não verifiquei.
Ele olhou. Fechei os olhos. O desaparecimento de uma centena de milhares de dólares não é coisa fácil de se contemplar.
Chorou:
— Ah, ah — abri depressa os olhos.
Segurava um pedaço de pergaminho com cerca de uns oito centímetros de lado. Nele estavam duas assinaturas e a de cima era a de Button Gwinnett.
Agora, prestem atenção: a assinatura era absolutamente legítima. Não era forjada; não havia um átomo de fraude em toda a transação. Quero que isso fique bem entendido.
Sobre a ampla mão do tio Otto estava a assinatura feita pela mão georgiana de Buttorr Gwinnett, em pessoa, no verdadeiro, no legítimo pergaminho da Declaração da Independência.
Ficou resolvido que tio Otto partiria para Washington com o pedaço de pergaminho. Eu não apresentava condições para tal fim. Sendo advogado, era de se esperar que eu soubesse demais. Ele era apenas um gênio da Ciência e, portanto, era de se esperar que não soubesse de coisa alguma, Ademais, quem desconfiaria de qualquer coisa do Dr. Otto Schlemmeelmayer, senão da mais transparente honestidade?
Gastamos uma semana compondo nossa história. Comprei um livro para a ocasião, uma antiga narração da Geórgia colonial, numa loja de livros de segunda mão. Meu tio devia levá-lo consigo e anunciar que tinha encontrado um documento entre suas páginas: uma carta dirigida aos homens envolvidos no processo de colonização do Esta do da Geórgia; uma carta em nome da Geórgia.
Encolheu os ombros ante a ideia e segurou o pergaminho sobre um bico de gás “bunsen” Por que um físico se interessaria por cartas? Então, compenetrando-se do odor característico desprendido pelo papel queimado, apagou com pancadinhas o bico, mas conseguiu salvar apenas o pedaço que continha as assinaturas. Olhou então para o pedaço de papel e viu que o nome de Button Gwinnett havia-se transformado num simples elemento de recordação.
Havia decorado com perfeição a história. Queimei as extremidades do pergaminho, de tal modo que o nome que ficava na parte mais baixa dele, o de George Walton, ficou levemente chamuscado.
— Assim parecerá mais real — expliquei. É óbvio que uma assinatura sem uma das letras perde o valor, mas neste caso possuímos três assinaturas, de todos os signatários,
Tio Otto pôs-se a meditar.
— E se compararem as assinaturas com as da Declaração e perceberem, através de um microscópio, que são as mesmas? Não irão suspeitar de fraude?
— Decerto, mas o que poderão fazer? — O pergaminho é autêntico; a tinta é autêntica; as assinaturas são autênticas. Terão que admitir isso. Ainda que desconfiem de alguma coisa estranha, não conseguirão provar coisa alguma. Podem conceber em retomar no tempo para fazê-lo? Com efeito, espero que tentem fazer um tremendo escarcéu em torno disso. A propaganda irá melhorar o preço.
A última frase levou tio Otto a desandar numa gargalhada.
No dia seguinte tio Otto tomou o trem para Washington com visões de flautas na cabeça: flautas compridas, flautas curtas; flautas-barítono, flautas baixo, flautas trinadoras, flautas compactas, Microflautas, flautas individuais e flautas para orquestras. Um mundo de flautas para espíritos preocupados com a música. — Lembre- se — foram as últimas palavras dele — não tenho dinheiro para reconstruir a máquina. Isto tem que dar certo.
Animei-o:
— Não pode deixar de dar certo, tio Otto!
Há, há!
Voltou dentro de uma semana Eu havia feito telefonemas interurbanos todos os dias e todo dia ele me informava que estavam investigando.
Investigando...
Bem, vocês não investigariam? Mas qual a vantagem para eles?
Fui à estação esperá-lo. Estava inexpressivo. Não ousei interrogá-lo em público. Senti o desejo de perguntar: “Então, sim ou não?” — mas, pensei de mim para comigo, deixemos que ele fale.
Levei-o ao meu escritório. Ofereci-lhe um charuto e uma bebida. Ocultei as mãos sob a escrivaninha, o que fez com que ela também tremesse, de modo que enfiei as mãos nos bolsos e, então passei a tremer da cabeça aos pés.
Ele então começou a falar:
— Investigaram.
— Decerto. Foi o que eu disse que fariam. Ah, ah, ah!
Tio Otto tirou uma lenta tragada do charuto. Prosseguiu:
— O homem do Departamento Federal de Documentação aproximou-se de mim e disse: ‘Professor Schlemmeelmayer, o senhor está sendo vítima de uma refinada fraude”. Perguntei: “É? E de que maneira isso pode ser uma fraude? É falsa a assinatura?” — Ele então respondeu: — “Certamente não tem jeito de falsificação, mas deve ser” — “E por que deve ser?” — quis saber.
Tio Otto baixou o charuto, depôs o copo e debruçou-se do outro lado da escrivaninha, encarando-me. Manteve-me em suspense.
Inclinei-me para ele; por conseguinte, mereci tudo o que ganhei.
— Isso mesmo — balbuciei — por que deve ser falsa? Não podem provar que há algo errado, pois é algo verdadeiro. Por que razão deve tratar-se de fraude? Por quê?...
A voz de tio Otto soou terrivelmente adocicada. Perguntou:
— Conseguimos o pergaminho no passado?
— Sim, lógico. Sabe que sim.
— Muito bem, no passado.
— Uns cento e cinquenta anos no passado, conforme você disse...
— E a cento e cinquenta anos atrás o pergaminho no qual foi escrita a Declaração da Independência era um bocado novo, não é?
Eu estava principiando a compreender, mas não com suficiente velocidade.
A voz de tio Otto mudou de marcha, transformando-se num trepidante e surdo urro:
— Se Button Gwinnett faleceu em 1777, “seu” tolo miserável, como pode ser encontrada uma assinatura autêntica dele num pedaço de pergaminho novo?
Depois disso, foi somente uma questão do mundo precipitar-se para a frente e para trás, ao meu redor.
Espero pôr-me em pé brevemente. Ainda estou todo dolorido, mas os médicos garantem que nenhum osso foi quebrado.
Tio Otto, porém, não precisava forçar-me a engolir aquele miserável pergaminho.
Se eu esperasse ser reconhecido como um mestre do humor por causa destas histórias, penso que falhei.
L. Sprague de Camp, um dos mais bem sucedidos escritores de ficção científica e fantasia humorística, teve o seguinte comentário a meu respeito em seu Science Fiction Handbook, as quais, como vocês sabem, apareceram, não muito depois (em minha opinião) dessa bem sucedida incursão no humor:
“Asimov é um homem algo encorpado, de aparência juvenil, cabelos castanhos, ondulados, olhos azuis e disposição jovial, efervescente e vigorosa, estimado de seus amigos mercê de sua natureza generosa e afável. Extremamente sociável, eloquente e espirituoso, é um perfeito mestre de cerimônias. Esta inclinação para o humor oral contrasta com a sobriedade de seus contos”.
Sobriedade!
Por outro lado, doze anos mais tarde, Groff Conklin incluía “Botão, Botão” em sua antologia 13 Above the Night, dizendo, em parte: “Quando o bom doutor... resolve tirar um dia de folga para tornar-se engraçado, consegue realmente fazer graça...”
Ora, conquanto Groff bem como Sprague fossem ambos dois grandes amigos meus (penso que Groff já morreu), não resta dúvida de que neste caso em foco, no meu entender, Groff revela bom gosto e Sprague é um ingênuo.
Por falar nisto, antes que passemos adiante, acho melhor explicar o dito jocoso “generoso, cordial” de Sprague... que pode causar espanto aos que me conhecem como um grosseirão perverso e miserável.
A predisposição de Sprague a meu favor, penso eu, é toda baseada num único incidente.
Foi nos idos de 1942, quando Sprague e eu servíamos no Estaleiro da Marinha de Filadélfia. Era tempo de guerra e necessitávamos de distintivos de identificação para entrar. Qualquer pessoa que esquecesse o distintivo tinha que lutar com a burocracia durante uma hora para obter um provisório, descontava-se uma hora no seu salário e o infame delito era registrado em sua ficha,
Quando nos aproximávamos do portão, no dia em questão, Sprague assumiu um tom esverdeado e disse: “Esqueci meu distintivo”. Na época, era candidato a uma promoção a tenente, na Marinha, e temia que mesmo a mais leve mancha na sua ficha civil pudesse exercer efeito negativo nas coisas.
Bem, eu não estava me candidatando a coisa alguma e havia estado tão acostumado a ser chamado para o gabinete do diretor nos meus tempos de escola, que um berro na cara, procedente de uma autoridade, não significava para mim nenhum terror.
Assim, entreguei-lhe o meu distintivo e encorajei-o:
— Prossiga, Sprague. Pregue isto na lapela. Eles jamais irão olhar de perto.
Ele entrou e eles efetivamente não examinaram o distintivo. Eu então disse que havia esquecido meu distintivo e levei a breca.
Sprague jamais esqueceu o incidente. Ainda hoje vive dizendo a todos que sou um sujeito formidável, a despeito do fato de que todos esbulham incredulamente os olhos para ele. Aquele ato impulsivo deu ensejo a uma vida inteira de fervorosa propaganda pró Asimov. “Lance o seu pão nas águas...”
Bem, vamos em frente.
O dedo do macaco
— Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim — disse Marmie Tallinn, em dezesseis diferentes inflexões e timbres de voz, enquanto o pomo de Adão no longo pescoço subia e descia convulsivamente. Ele era um escritor de ficção científica.
— Não. — respondeu Lemuel Hoskins — olhando-o duramente por detrás dos óculos de aros de aço. Era editor de ficção científica.
— Neste caso não aceitará um teste científico. Não me quer dar ouvidos. Perdi na votação, hem?
Marmie elevou-se nas pontas dos pés e deixou-se cair, repetindo o processo algumas vezes, com pesada respiração. Os cabelos pretos formavam tufos, nos pontos em que os seus dedos os haviam segurado.
— Um contra dezesseis — disse Hoskins.
— Escute disse Marmie. — Por que você acha ter sempre razão? E por que eu estou sempre errado?
— Marmie, encare as coisas: sempre julgamos ao nosso próprio modo. Se a tiragem das revistas diminuísse, ninguém mais me levaria a sério, O presidente da Publicadores Espaço não faria perguntas, pode crer. Consultariam apenas os números. Mas a tiragem não diminuiu, está em ascensão, o que me torna um bom editor. Quanto a você, quando os editores aceitam a gente, é porque a gente é um talento; quando rejeitam a gente, é porque a gente é imprestável.
— Você sabe perfeitamente que existem outros editores. Você não é o único — Marmie levantou as mãos, com os dedos abertos. — Pode estar certo de que muitas revistas especializadas em contos de ficção científica aceitariam uma história de Tallinn, de olhos fechados.
— Boa sorte! — exclamou Hoskins.
— Escute — a voz de Marmie tornou-se adocicada. — Você desejava duas modificações, não é? Uma cena introdutória com a batalha no espaço. Pois bem, eu lha dei. Está aqui mesmo — sacudiu o manuscrito embaixo do nariz de Hoskins, que recuou como se farejasse um mau cheiro. — No entanto, quis também uma cena com uma visão retroativa do interior da espaçonave — prosseguiu Marmie — e isso você não vai conseguir. Se eu fizer tal modificação, arruíno o final que, como está, tem dramaticidade, profundidade e sensação.
O editor Hoskins recostou-se na poltrona e chamou a secretária, que durante todo o tempo havia estado batendo à máquina sossegadamente, habituada como estava àquelas cenas.
Hoskins perguntou:
— Ouviu essa, srta. Kane? Ele fala de dramaticidade, profundidade e sensação. O que um escritor sabe destas coisas? Ouça, se você inserir uma visão retrospectiva no interior da nave, intensifica o suspense. Introduz tensão na história, torna-a mais válida.
— Como a torno mais válida? — gemeu Marmie, angustiado. — Está sugerindo que colocar um punhado de indivíduos numa espaçonave, discorrendo sobre Política e Sociologia, quando estão a ponto de ir pelos ares, a torna mais convincente? Oh, meu Deus!
— Não há mais nada para você fazer. Se esperar até que o clímax tenha passado e então puser em discussão sua Política e a sua Sociologia, o leitor vai dormir sobre o conto.
— Estou tentando dizer-lhe que você está enganado e posso provar isso. Qual o proveito de discutir, quando já consegui uma experiência científica...
— Que experiência científica? — Hoskins recorreu mais uma vez à secretária. — Que acha, srta. Kane? Ele se julga um de seus próprios personagens.
— Acontece que conheço um cientista.
— Quem?
— O Dr. Arndt Torgesson, professor de Psicodinâmica da Universidade de Columbia.
— Nunca ouvi falar dele.
— Pois acho que isso significa muita coisa — disse Marmie, desdenhosamente. — Você nunca ouviu falar dele? Nunca ouviu falar de Einstein até o momento em que os seus escritores passaram a mencioná-lo em seus contos,
— Muito gozado, boa piada. E quanto ao tal Torgesson?
— Ele desenvolveu um sistema para determinar cientificamente o mérito de uma obra literária. Trata-se de um trabalho excepcional. É... é...
— É secreto?
— Decerto que é secreto. Não é nenhum professor de ficção científica. Na ficção científica, quando um indivíduo desenvolve uma teoria qualquer, anuncia-a imediatamente nos jornais. Na vida real, tal não acontece. Um cientista, às vezes, gasta anos em experiências, antes de dá-la a público. Publicação é uma coisa muito séria.
— Mas então, como é que sabe disso? Trata-se apenas de uma pergunta.
— Acontece que o Dr. Torgesson é um de meus admiradores. Gosta de minhas narrativas. Por acaso, tem-me na conta do melhor contador de histórias imaginárias em atividade.
— E mostrou a você o trabalho dele?
— Exatamente. Como contava com a sua obstinação a respeito de meu conto, pedi-lhe que realizasse uma experiência para nós. Prometeu-me que a realizaria, contanto que não a divulgássemos. Assegurou-me que seria uma experiência muitíssimo interessante. Afirmou que...
— O que há de tão secreto nela?
— Bem... — Marmie titubeou. — Escute, suponhamos que eu lhe dissesse que ele tem um macaco que é capaz de bater à máquina Hamlet de cor e salteado?
Hoskins fixou em mim os olhos arregalados, algo assustado.
— O que está tramando? Uma brincadeira de mau gosto? Uma piada? — apelou novamente para a srta. Kane: — Quando um escritor escreve ficção científica durante dez anos, não está seguro sem uma jaula individual.
A srta. Kane continuou a bater à máquina com velocidade constante.
Marmie disse:
— Ouviu-me; um macaco comum, de aparência um pouco mais engraçada do que a do editor médio. Marquei uma entrevista para esta tarde, a fim de tratar do assunto. Vem comigo ou não?
— Claro que não. Acha que vou abandonar uma pilha de manuscritos como esta — levou a mão à laringe e fez um gesto, como se uma afiada faca a estivesse cortando — por causa de suas piadinhas sem graça? Acha que vou bancar o palhaço nesta brincadeira?
— Se for qualquer coisa parecida com uma piada de mau gosto, Hoskins, pago um jantar para você em qualquer restaurante de seu agrado. A srta. Kane é a testemunha.
Hoskins recostou-se na cadeira:
— Paga-me um jantar? Você, Marmaduke Tallinn,o mais amplamente conhecido “pendura” de Nova Iorque pagando uma conta de restaurante?
Marmie estremeceu, não tanto pela referência à sua habilidade em esquecer de pagar uma conta de jantar, quanto pela menção do seu nome naquelas três terríveis sílabas: Mar-ma-duke. Confirmou: — Repito: jantar por minha conta, onde quiser e o que desejar. Bifes, cogumelos, cristas de galinha-da-índia, crocodilo marciano, qualquer coisa.
Hoskins levantou.se e tirou o chapéu de cima do armário do arquivo.
— Pra variar — disse ele — apenas para vê-lo desdobrar algumas daquelas notas antigas, grandes, que você vem guardando no salto falso do sapato do pé esquerdo desde mil novecentos e vinte e oito, eu iria a pé até Boston,..
O Dr. Torgesson sentiu-se honrado. Apertou cordialmente a mão de Hoskins e disse:
— Tenho lido “Contos Espaciais” desde que cheguei ao país, sr. Hoskins. Trata-se de uma excelente revista. Sou fã muito particular das histórias do sr. Tallinn.
— Ouviu? — perguntou Marmie.
— Ouvi. Marmie diz que você tem um macaco genial, professor.
— Sim — confirmou Torgesson — mas, é claro, é assunto confidencial. Ainda não estou pronto para fazer divulgação disso e a propaganda prematura poderia significar a minha ruína profissional.
— Está rigorosamente sob segredo editorial, professor.
— Muito bem, muito bem. Sentem-se, cavalheiros, sentem-se — e começou a andar de um lado para outro diante deles. — O que falou ao sr. Hoskins a respeito de. meu trabalho, ar. Marmie?
— Nada, professor.
— Bem; sr. Hoskins, como editor de uma revista de ficção científica não preciso perguntar-lhe se conhece alguma coisa de Cibernética.
Hoskins permitiu que um rápido olhar de seu intelecto concentrado destilasse por detrás dos óculos de aros de aço. Disse:
— Ah, sim... computadores... MIT... Norbert Weiner — resmungou outras.
— Sim, sim — Torgesson pôs-se a andar mais depressa. Então está inteirado de que têm sido construídos computadores capazes de jogar xadrez, baseados nos princípios da Cibernética. As regras dos lances, bem como o objeto do mesmo são construídos em seus circuitos. Dada uma determinada posição no tabuleiro, a máquina é então capaz de calcular todos os lances possíveis, juntamente com a consequência deles e selecionar aqueles que oferecem a mais elevada probabilidade de vencer a partida. É capaz mesmo de tomar em consideração o temperamento do adversário.
— Ah, sim — disse Hoskins, coçando violentamente o queixo.
Torgesson prosseguiu:
— Imagine então uma situação paralela, na qual o computador possa receber um fragmento de uma peça literária, ao qual possa acrescentar palavras de um estoque completo de vocábulos de tal forma que sejam servidos os mais elevados valores da literatura. Naturalmente, ter-se-ia que ensinar à máquina o significado de várias teclas de uma máquina de escrever. Evidentemente, tal computador teria de ser muito, mas muito mais complexo do que qualquer jogador de xadrez.
Hoskins estremeceu, tomado de inquietação:
— O macaco, professor. Marmie mencionou um macaco.
— Mas é justamente para isso que vou indo — tornou Torgesson — É óbvio que nenhuma máquina construída é suficientemente complexa. O cérebro humano, contudo... ah, o próprio cérebro humano é um computador. É lógico que eu não poderia lançar mão de um cérebro humano. A lei, infelizmente, não mo permitiria Não obstante, até o cérebro de um símio, apropriadamente controlado é capaz de fazer mais do que qualquer máquina construída pelos homens. Esperem, que vou buscar o pequeno Rollo.
Saiu da sala. Hoskins aguardou uns instantes e então lançou uma prudente olhada para Marmie. Exclamou:
— Oh, Deus!
Marmie respondeu:
— O que há?
— O que há? O homem é um impostor. Diga-me, Marmie, onde encontrou esse trapaceiro?
Marmie ofendeu-se:
— Trapaceiro? Este é o escritório genuíno de um professor no Fayerweather Hall, na Colúmbia. Espero que se lembre de Columbia. Viu a estátua de Alma Mater na Rua 116. Mostrei-lhe o gabinete de Eisenhower.
— Certo, mas...
— E esta é a sala do Dr. Torgesson. Veja a poeira — assoprou sobre um livro didático e uma nuvem de pó elevou-se do mesmo. — A poeira, por si só, diz da autenticidade do escritório. E veja o titulo do livro: Psicodinâmica do Comportamento Humano, do professor Arndt Rolf Torgesson,
— Concordo, Marmie, concordo! Existe um Torgesson, e esta é a sala dele. Como soube que o sujeito verdadeiro saiu de férias e como conseguiu apossar-se do escritório dele é que não sei. Mas está tentando convencer-me de que esta palhaçada do macaco e dos computadores é algo legitimo? Ora bolas!
— Considerando uma natureza tão desconfiada quanto a sua, só posso concluir que teve um tipo de infância muito miserável e problemática.
— Somente o resultado de experiências com escritores, Marmie. Já escolhi o restaurante e a brincadeira vai lhe custar alguns cobres.
Marmie bufou:
— Não vai me custar nem mesmo o mais sórdido vintém que já me deu algum dia. Silêncio que o homem está de volta.
Com o professor, agarrado ao pescoço dele, vinha um melancólico macaco do gênero Cebus.
— Este — anunciou o professor Torgesson — é o pequeno Rollo. Diga olá, Rollo.
O macaquinho grudou nos cabelos dele.
O professor então disse:
— Acho que está cansado. Tenho aqui um trecho do escrito dele.
Baixou o símio e deixou-o agarrar-se ao dedo dele, enquanto fisgava no bolso do paletó duas folhas de papel, que entregou a Hoskins.
Este leu:
— “Ser ou não ser, eis a questão; o que é mais nobre para o espírito? Suportar os açoites e as flechadas da sorte ultrajante, ou erguer armas contra uma hoste de problemas e, opondo-se a eles, aniquilá-los? Morrer, dormir. Nada mais; e pelo sono dizer que...”
Ergueu os olhos:
— O pequeno Rollo datilografou isto?
— Não, exatamente. É uma cópia do que ele bateu à máquina.
— Oh, uma cópia... o seu pequeno Rollo não conheceu o seu Shakespeare. É “erguer armas contra um oceano de dificuldades”.
Torgesson.admitiu:
— Muito certo, ar. Hoskins. Shakespeare efetivamente escreveu “oceano”, Mas veja que se trata de uma metáfora mista. Não se enfrenta o oceano com os braços Enfrenta-se uma hoste com os braços, Rollo selecionou a palavra e datilografou “hoste”. É um dos raros equívocos de Shakespeare.
— Vamos vê-lo datilografando.
— Pois não — o professor trouxe uma máquina de escrever montada sobre uma mesinha rolante. Saía um fio da máquina. Ele explicou:
— É necessário usar uma máquina de escrever elétrica, do contrário o esforço físico seria excessivo. É preciso também ligar o pequeno Rollo a este transformador.
E assim fez, usando como cabos condutores dois eletrodos que formavam protuberâncias de uns oito centímetros para fora da cabeça do pequeno Rollo.
— Rollo — explicou — foi submetido a uma delicada operação cerebral, na qual uma rede de fios foi ligada a várias regiões de seu cérebro. Podemos selecionar suas atividades voluntárias e, com efeito, usar seu cérebro como simples computador. Receio que entrar em detalhes seria...
— Vamos vê-lo bater à máquina — disse Hoskins.
— De que gostaria?
Hoskins refletiu rapidamente:
— Ele conhece “Lepanto”, de Chesterton?
— Não sabe nada de cor. Sua escrita é pura computação. Bem, declame apenas uma amostra da peça em questão de modo que ele possa avaliar-lhe o espírito e computar as consequências a partir das primeiras palavras.
Hoskins concordou balançando a cabeça, inflou o peito e trovejou: “Alvas fontes despejando-se nas cortes inundadas de sol, e o Soldan de Bizâncio está sorrindo, enquanto correm. Há gargalhadas como fontes naquele rosto temido de todos os homens; gargalhada que agita as trevas das florestas, a escuridão de suas barbas; que encrespa o crescente vermelho como o sangue; o crescente de seus lábios; porque a parte mais recôndita do oceano do mundo inteiro é abalada pelos seus navios...”
— Basta! — disse Torgesson.
Fez-se silêncio, enquanto aguardavam. O macaco contemplava solenemente a máquina de escrever.
Torgesson frisou:
— É óbvio que o processo exige tempo. O pequeno Rollo tem de considerar o caráter romântico do poema, o leve sabor arcaico, a forte monotonia do ritmo, assim por diante.
De súbito, um dedinho escuro avançou e pressionou uma tecla. Era um “e”.
— Ele não escreve maiúsculas — explicou o cientista. — Tampouco utiliza pontuação e não se pode confiar muito em seu espacejamento. Em vista disso, datilografo o trabalho dele depois de pronto.
O pequeno Rolio bateu um “1”, em seguida um novo “e” e, finalmente, um “s”. Então, decorrido um longo tempo, acionou a barra de espaços. — “Eles” — leu Hoskins.
— As palavras então foram se formando por si mesmas na máquina:
“Eles desafiaram asrepüblicas dos brancos atéos cabos da Itália — arremessaram oleão redondo do mar e o papa enviouseus exércitos ao estrangeiro para aflição e perda e convocou os reisda cristandade para terçar lanças em torno da cruz”
— Santo Deus! — gaguejou Hoskins.
— Então é assim que o trecho continua? — perguntou Torgesson.
— Pelo amor de Deus! — exclamou Hoskins.
— Se é assim, então Chesterton deve ter produzido um trabalho muito bom e consistente.
— Santas Fumaças! — bradou Hoskins.
— Veja — disse Marmie, massageando o ombro de Hoskins. — Você vê, você vê, você vê — acrescentou.
— Macacos me mordam — explodiu Hoskins.
— Veja, então — disse Marmie, entrelaçando as madeixas de cabelos até elas formarem uma espécie de crista de cacatua.
— Vamos tratar de negócios. Vamos atacar minha história.
— Sim, mas...
— Não está além da capacidade do pequeno Rollo — assegurou- lhes Torgesson - Com frequência leio para Rollo trechos das melhores histórias de ficção, incluindo muitos dos contos de Marmie. É de espantar como alguns deles são melhorados.
— Não se trata bem disso — disse Hoskins. — Qualquer macaco é capaz de escrever contos de ficção melhores do que os “picaretas” que temos. O conto de Tallinn, no entanto, tem treze mil palavras. O macaco terá que datilografá-lo eternamente.
— De modo algum, sr. Hoskins, absolutamente. Lerei parte da história para ele e, no ponto crucial, deixaremos que ele prossiga.
Hoskins cruzou os braços.
— Bem, pois dê o pontapé inicial. Estou pronto.
— Estou mais do que pronto — disse Marmie.
E também cruzou os braços.
Rollo sentou-se então, um pequeno embrulho de pelos, de cataléptica miséria, e a voz do dr. Torgesson passou a elevar-se e a entrar na cadência de uma batalha espacial e as consequentes lutas dos cativos terráqueos para reaver uma espaçonave perdida.
Um dos personagens consegue abrir caminho até o casco da nave. O dr. Torgesson acompanha os extravagantes acontecimentos com controlado enlevo. Lê:
“... Stalny ficou imóvel sob o silêncio das estrelas eternas; o joelho dolorido dilacera-lhe a consciência, enquanto esperava que os monstros em trajes espaciais ouvissem o baque e...”
Marmie deu um puxão desesperado na manga do paletó do Dr. Torgesson. Este abandonou a leitura e desligou o pequeno Rollo.
— Aí está — disse Marmie. — Veja, Dr. Torgesson, é mais ou menos neste ponto que Hoskins mete seus dedinhos pegajosos no meu trabalho. Prossegui com a cena desenvolvendo-se do lado de fora da espaçonave até Stalny vencer e a nave retornar às mãos dos terráqueos.
E então explica:
— Hoskins quer que eu interrompa a cena externa, retorne ao interior da nave, suspenda a ação por umas duas mil palavras e então retome novamente o exterior. Já viu sujeito mais sem bom-gosto?
Hoskins propôs:
— Que tal se o macaco decidisse?
O dr. Torgesson ligou o pequeno Rollo e um dedo preto, peludo, avançou nitidamente até a máquina de escrever. Hoskins e Marmie debruçaram-se para a frente, ao mesmo tempo, juntando devagar as cabeças sobre o reflexivo Rollo. A máquina disparou a letra “c”.
— “C” — encorajou-o Marmie, abanando a cabeça.
— “C” — repetiu Hoskins.
A máquina bateu então a letra “o” e depois a letra “n”, ganhando velocidade cada vez maior daí por diante: “continue com Stalny tomado inteiramente de pavor, à espera de que as escotilhas se abram e monstros em trajes espaciais irrompam implacavelmente”
— Palavra por palavra — murmurou Marmie, extasiado.
— Tem até o mesmo estilo piegas.
— Os leitores gostam dele.
— Não gostariam, se a idade mental dele não fosse — Hoskins calou-se.
— Vá em frente, diga-o — estrilou Marmie, — Diga, diga. Diga que o QI deles é o mesmo que o de uma criança de doze anos e então citarei suas palavras em cada revista de fãs de todo o país,
— Cavalheiros — disse Torgesson — cavalheiros, Estão perturbando Rollo.
Voltaram-se para a máquina de escrever, que continuava martelando inexoravelmente:
“As estrelas perfaziam suas enormes órbitas, enquanto os sentidos terrestres de Stalny insistiam em que a espaçonave giratória dele permanecesse imóvel.”
O carro da máquina de escrever retornou rapidamente para o início de uma nova linha. Marmie reteve a respiração, Ali, ou noutro ponto qualquer aconteceria...
O pequeno dedo avançou e bateu um “*”.
— Um asterisco! — gritou Hoskins,
Marmie gaguejou:
— Asterisco?
Torgesson perguntou:
— Asterisco?
Seguiu-se mais uma linha com nove asteriscos.
— É só, irmão — disse Hoskins Explicou rapidamente ao boquiaberto Torgesson, — É um hábito de Marmie. Usa uma linha de asteriscos quando quer indicar uma radical mudança de cena. E uma radical mudança de cena é exatamente o que desejo.
A máquina de escrever iniciou um novo parágrafo: “No interior da espaçonave...”
— Desligue-a, professor — disse Marmie.
Hoskins esfregou as mãos:
— Quando conseguirei a revisão, Marmie?
Marmie perguntou sem entusiasmo:
— Que revisão?
— Você disse a versão do macaco.
— Disse mesmo, e por isso o trouxe aqui para ver. Rollo é uma máquina; uma máquina fria, brutal e lógica.
— E daí?
— O ponto importante é que um escritor não é uma máquina; não escreve com a mente e sim com o coração — e Marmie bateu no peito.
Hoskins rezingou:
— O que quer dizer, Marmie? Se vem com aquela conversa batida de “escritor de-corpo-e-alma”, serei obrigado a vomitar agora e aqui mesmo. Vamos conservar tudo naquela base do “escrever-qualquer-coisa-por-dinheiro”.
Marmie disse:
— Preste atenção ao que vou dizer. Um minuto apenas: o pequeno Rollo corrigiu Shakespeare, como você mesmo salientou. O pequeno Rollo quis que Shakespeare dissesse “hoste de dificuldades” e estava correto do ponto de vista de uma máquina. “Oceano de dificuldades”, sob as circunstâncias, é uma metáfora mista. Mas você não acha que Shakespeare estava a par disso? O caso é que Shakespeare sabia quando devia infringir as regras, apenas isto. Rollo é uma máquina incapaz de infringir regras, mas um bom escritor pode e deve fazê-lo. “Oceano de dificuldades” é mais impressionante; tem balanço e força. Pro inferno a metáfora mista!
— Agora, quando manda que eu mude a cena, está seguindo regras mecânicas para manter o suspense, de forma que, naturalmente, Rollo concorda com você. Entendo, todavia, que se deve infringir regras para manter o profundo impacto emocional do final, assim como eu o imagino. Caso contrário, tenho um produto mecânico que um computador pode produzir.
Hoskins balbuciou:
— Mas...
— Continue — prosseguiu Marmie — vote pelo mecânico. Diga que Rollo é o mais completo editor que você já teve.
Hoskins disse, com um tremor na garganta:
— Está bem, Marmie, aceitarei o conto como está. Não mo entregue pessoalmente, envie-o pelo correio. Preciso encontrar um bar, se não se incomoda.
Enterrou a chapéu na cabeça e voltou as costas para sair. Torgesson gritou por detrás dele:
— Não conte a ninguém a respeito de Rollo. Por favor.
— A derradeira resposta voltou fluente, acima do estrondo da porta:
— Pensa que sou louco?...
Marmie esfregou as mãos, extasiado, quando teve certeza de que Hoskins havia partido.
— Cérebro, apenas isso — disse, e enfiou o mais profundamente que pôde o dedo na fonte. — Gostei da venda. Esta venda, professor, vale por tudo quanto já foi feito um dia. Todo o resto junto — e deixou-se cair exultante na cadeira mais próxima.
Torgesson colocou o macaquinho no ombro e então disse com voz suave:
— Mas, Marmaduke, o que você teria feito se ao invés disso o pequeno Rollo tivesse datilografado a sua versão?
Uma expressão de pesar passou momentaneamente pela fisionomia de Marmie:
— Ora, que se dane! — exclamou ele. — É o que pensei que ele ia fazer.
A propósito, em “O Dedo do Macaco”, o escritor e o editor foram modelados em um par real, discutindo sobre uma história real e de forma real.
A história envolvida foi “C-Chute”, que havia aparecido em Galaxy, em outubro de 1951 (depois da discussão) e que eventualmente foi incluída em meu livro O Cair da Noite. Eu era logicamente o escritor e Horace Gold,o editor.
Conquanto o argumento e a história fossem reais, os personagens são fictícios. Não sou de modo algum como o escritor da história, e Horace tampouco se assemelha, de modo algum, com o editor dela. Horace possui características próprias que são muito mais interessantes do que as que engendrei com propósitos de ficção — eu também. Mas nunca liguei importância a isto.
Dentre todas as histórias que tenho composto, aparecidas uma só vez e nunca mais, a seguinte é uma das quais mais falo. Debati-a numa dúzia de conferências e a tenho mencionado ocasionalmente na imprensa, por uma razão muito boa, que abordarei mais tarde.
Em abril de 1953, encontrava-me em Chicago. Não tenho natureza de viajante e foi a primeira vez que viajei para Chicago (e desde então voltei lá somente uma vez). Lá estava para assistir a uma conferência da “American Chemical Society”, na qual se esperava que eu fizesse uma pequena palestra. Não havia quase divertimento, de modo que pensei que poderia avivar um pouco mais as coisas subindo para Evanston, um subúrbio ao norte, e visitando os escritórios da Universe Science Fíction.
Esta revista era na ocasião editada por Bea Mahaffey, uma mulher jovem de extraordinária boa aparência (costumo afirmar que os escritores de ficção científica votaram nela como a publicadora a quem provavelmente mais gostariam de entregar seus trabalhos, durante dois anos seguidos.)
Quando cheguei ao escritório, a 7 de abril de 1953, Bea cumprimentou:me efusivamente e me perguntou imediatamente por que não havia levado comigo uma história para ela.
— Quer uma história? — perguntei-lhe, entusiasmado com a formosura dela. — Vou escrever uma história para você. Traga-me uma máquina de escrever.
Dentro em pouco, eu estava empenhado totalmente em impressioná-la, na esperança de que se lançasse nos meus braços, num espasmo de selvagem adoração. Mas ela não o fez. Trouxe-me uma máquina de escrever.
— Eu tinha que ir até o fim. Uma vez que a tarefa de escalar o Monte Everest tomava grande parte do noticiário naqueles dias (os homens tentavam escalá-lo desde há trinta anos e a sétima tentativa em consegui-lo redundara em fracasso) pensei rapidamente e compus o “Everest”.
— Bea leu-a, gostou e ofereceu-me trinta dólares, que aceitei com muito entusiasmo. Gastei em seguida metade da quantia num jantar sofisticado para nós dois e esforcei-me, com grande êxito, no sentido de mostrar-me encantador, cortês, jovial e agradável. A garçonete confidenciou-me que gostaria muito que seu genro fosse como eu.
Eu estava cheio de esperanças e foi com o coração pulando de alegria que levei Bea ao apartamento dela. Não sei bem o que eu tinha em mente, mas se era algo totalmente decente (decerto que não) seria desapontado. Bea logrou entrar no apartamento, deixando-me postado no corredor, sem ter sequer visto a porta aberta.
Everest
Em 1952 estavam quase dispostos a desistir de tentar escalar o Monte Everest. Eram as fotografias que os mantinham interessados.
No que respeita às fotografias, não eram muitas. Vagas, indefinidas, riscadas, com apenas manchas escuras contra o fundo branco, não davam para despertar o interesse de ninguém. No entanto, aquelas manchas escuras eram seres vivos. Os homens eram capazes de jurar por isso.
Eu disse:
— Bolas, durante quarenta anos tem-se falado de seres deslizando pelas geleiras do Monte Everest. Já é tempo de fazermos alguma coisa neste sentido.
Jimmy Robbons (perdão, James Abram Robbons) foi um dos que me forçaram a tomar aquela posição. Vocês compreendem: ele sempre foi um fã do alpinismo. Era quem sabia tudo a respeito do motivo de os tibetanos não se aproximarem do Everest, considerando-o o monte dos deuses; era capaz de citar para mim cada uma das pegadas semelhantes às dos homens, registradas no gelo a vinte e cinco mil pés de altitude; conhecia de cor cada uma das fantásticas histórias sobre as delgadas e altas criaturas que deslizavam velozmente ao longo dos penhascos, nas proximidades do último e desolado acampamento que alpinistas tinham conseguido montar.
É bom ter por perto unia criatura tão entusiasta na sede do Pesquisas Planetárias.
A última fotografia, no entanto, colocou um freio em sua boca. Afinal de contas, mal se poderia pensar que tais seres fossem humanos.
Jimmy disse:
— Ouça, chefe, o que importa é o fato de estarem lá; importante é a velocidade com que se deslocam. Veja aquela fotografia. Está tremida.
— A câmara pode ter trepidado.
— O penhasco é bastante escarpado; e os homens juram que a coisa estava correndo. Imagine o metabolismo que a coisa deve ter para correr sob uma pressão atmosférica daquelas. Chefe, teria acreditado em peixes das camadas mais profundas do mar, se nunca tivesse ouvido falar neles? Temos peixes que estão procurando novos nichos ambientais para explorar, de forma que possam descer cada vez mais nas profundezas do mar, até descobrirem, algum dia, que não podem mais retornar. Adaptaram-se de forma tão completa que só conseguem viver sob toneladas de pressão...
— Bem...
— Ora, não pode inverter o quadro? As criaturas podem ser forçadas a escalar uma encosta, não podem? Podem aprender a aguentar um ar mais rarefeito e temperaturas mais frias; podem viver de musgo ou de pássaros ocasionais, exatamente como o peixe das camadas mais profundas do oceano, em última análise, vivem da fauna da camada superior que lentamente se infiltra para baixo. Descobrem, então, um dia, que não podem descer mais. Não vou afirmar que sejam homens. Pode tratar-se de camurça ou cabras monteses, texugos ou coisa parecida.
Retruquei, teimosamente:
— As testemunhas afirmaram que os seres tinham uma vaga aparência humana e as pegadas mencionadas são indubitavelmente parecidas com as de criaturas humanas.
— Ou parecidas com as de ursos — disse Jimmy. — Não se pode dizer..
Foi então que eu disse:
— Chegou a hora de fazermos alguma coisa neste sentido.
Jimmy encolheu o ombro, dizendo:
— Há quarenta anos que se vem tentando escalar o Monte Everest — e meneou a cabeça.
— Pelo amor de Deus — disse eu. — Vocês, os alpinistas, são todos uns malucos, isso é certo. Não estão interessados em atingir o cume. Estão apenas interessados em chegar lá de algum modo. Chegou a hora de deixar de perder tempo com picaretas, cordas, acampamentos e todos os acessórios do Clube dos Cavalheiros, que manda imbecis montanha acima a cada cinco anos, mais ou menos.
— Aonde quer chegar?
— Sabe que inventaram o aeroplano em 1903?
— Está sugerindo sobrevoar o Monte Everest? — perguntou ele, com a mesma entonação que um lorde inglês diria “atirem na raposa” ou um pescador aconselharia “usem minhocas!”.
— Exatamente — confirmei. — Sobrevoar o Monte Everest e baixar alguém no cume. Por que não?
— Este alguém não viveria muito tempo. Refiro-me à pessoa que vocês deixarem lá.
— E por que não? — perguntei novamente. — Deixem cair suprimentos e tanques de oxigênio. Naturalmente, a pessoa usaria um traje espacial.
Levou tempo até conseguirmos que a Força Aérea desse ouvidos e aquiescesse em enviar um avião àquela altitude. O espírito de Jimmy havia girado em torno daquela ideia, até que por fim voluntariou-se para ser o indivíduo que desceria no cume do Monte Everest.
— Afinal de contas — disse quase num sussurro — seria eu o primeiro homem a ficar em pé lá em cima.
Este é o início da história. Em si mesma, poderia ser narrada com muito mais simplicidade e com menor número de palavras.
O avião esperou duas semanas, na melhor parte do ano (no que concerne ao Monte Everest, bem entendido) por um período razoavelmente apropriado para o voo, e então decolou. Conseguiram. O piloto descreveu pelo rádio, a um grupo de escuta, com exatidão, a aparência do Monte Everest visto por cima e, em seguida a figura de Jimmy Robbons, à medida que seu paraquedas ficava cada vez menor.
Logo irrompeu outra tempestade de neve e o avião mal conseguiu retornar à base. Decorreram mais duas semanas antes que o tempo ficasse novamente apropriado para voo.
Durante todo o tempo, Jimmy permaneceu sozinho no teto do mundo e eu detestei-me a mim mesmo por ter sido um assassino.
O avião retornou duas semanas depois para ver se conseguiriam localizar o cadáver. Não sei de que adiantaria, se o tivessem encontrado, mas a raça humana é assim mesmo. Quantos mortos na última guerra? Quem é capaz de enumerá-los todos? No entanto, o dinheiro ou qualquer outra coisa não é barreira para o resgate de uma única vida, ou mesmo para a recuperação de um cadáver.
Não encontraram o corpo dele, mas, com efeito, encontraram sinais de fumaça, subindo ondulantemente no ar rarefeito, açoitado pelas rajadas de vento. Arriaram um arpéu e Jimmy subiu, ainda envergando o traje espacial, com um aspecto miserável, mas decididamente vivo.
O “P. S.” da história envolve minha visita ao hospital, na semana passada, para vê-lo. Estava se recuperando devagar. Os médicos diziam “choque”, exaustão, mas os olhos de Jimmy falavam muito mais.
Perguntei:
— Que tal, Jimmy, não disse nada aos repórteres, não disse nada ao governo. Muito bem. Que tal se me contasse?
— Não tenho nada a dizer — murmurou.
— Decerto que tem — insisti, — Viveu no cume do Monte Everest durante uma nevasca de duas semanas de duração. Não conseguiu fazê-lo só, a despeito de todo o suprimento que lançamos para você. Quem ajudou você, meu caro Jimmy?
Ele então falou:
— São inteligentes, chefe. Comprimiram ar para mim; montaram uma pequena usina de força na minha mochila para que eu ficasse aquecido; fizeram o sinal de fumaça assim que localizaram o avião retornando.
— Compreendo — não quis apressá-lo. — É como pensávamos. Adaptaram-se à vida no Monte Everest. Não podem descer pelas encostas.
— Não, não podem. E nós não podemos subir por elas. Mesmo que o tempo não nos impedisse, eles o fariam.
— Parecem criaturas bondosas. Assim sendo, por que a objeção? Socorreram você.
— Não têm nada contra a gente. Conversaram comigo, sabe. Telepatia.
Fiz careta:
— Bem, e então?
— Não têm a intenção de serem molestados. Estavam nos vigiando, chefe. Precisam fazê-lo. Possuímos força atômica. Estamos em via de possuirmos foguetes espaciais. Preocupam-se conosco. O Monte Everest é o único lugar de onde nos podem vigiar.
Fechei ainda mais o cenho. Ele estava transpirando e suas mãos tremiam.
Tranquilizei-o:
— Calma, rapaz. Afinal de contas, que criaturas são essas?
Ele então respondeu:
— Que espécie de seres pensa você que se adaptariam tão bem ao ar rarefeito e ao frio abaixo de zero, a ponto de o Everest ser o único lugar habitável da Terra? Aí é que está o ponto mais importante. Não são da Terra, chefe. São marcianos.
Aí está.
Agora, deem-me licença para explicar-lhes por que razão debato o Everest tão assiduamente.
É óbvio que não acreditei realmente que havia marcianos no Monte Everest, ou que qualquer coisa seria capaz de retardar a eventual conquista do monte. Apenas pensei que as pessoas teriam o recato de evitar escalá-lo até que a história fosse estampada.
Mas não! A 29 de maio de 1953, menos de dois meses depois de eu ter composto e vendido o “Everest”, Edmund Hillary e Tenzing Norgay punham-se em pé no ponto mais elevado do Everest e não viram nem marcianos nem abomináveis homens da neve.
É claro que Universe poderia ter sacrificado trinta dólares deixando de publicar a história; ou ter-se oferecido para comprar a história novamente. Nenhuma das partes tomou a iniciativa e “Everest” apareceu no número de dezembro de 1953.
Visto que sou frequentemente convocado para discutir o futuro do homem, não posso deixar de utilizar-me de “Everest” para ressaltar que sou um perito futurista. Afinal de contas, fiz a previsão de que o Monte Everest jamais seria escalado cinco meses depois de ter sido escalado...
Atualmente, está em voga a publicação de antologias de histórias originais de ficção científica, o que desaprovo fervorosamente. Isso esgota as histórias e cansa os leitores que, de outra forma, volveriam para as revistas. Não desejo que isto aconteça. Sou de opinião que as revistas são essenciais para a ficção científica.
É o meu sentimento nascido de simples nostalgia? É ele suscitado pela lembrança do que as revistas de ficção científica tiveram significado para mim na infância e como me iniciaram como escritor? Em parte, suponho que sim, mas por outro lado é o resultado de um sentimento honesto de que elas exercem um papel vital.
Por onde pode um jovem escritor começar? Revistas, aparecendo seis, ou doze vezes por ano, devem ter apenas histórias. Uma antologia pode retardar a publicação até que as desejadas histórias cheguem; com a revista, não. Regida por prazos invariáveis, uma revista pode aceitar uma história ocasional abaixo do padrão, e um eventual escritor consegue uma iniciação enquanto a qualidade de seus escritos é apenas marginal. De fato, foi como consegui iniciar carreira.
Significa, é certo, que o leitor está sujeito a uma ou outra história de nível amador na revista, mas o escritor amador que a escreveu adquire coragem bastante para prosseguir com o trabalho e tornar-se (possivelmente) um grande escritor.
No entanto, quando surgiram as primeiras antologias de ficção científica, elas eram novidade. Na verdade, jamais imaginei que chegariam a tanto, e não tinha a noção de estar contribuindo para um iminente crescimento do mercado quando escrevia para elas. De fato, uma vez que pagavam melhor do que as revistas costumavam pagar, sentia-me bem fornecendo escritos para elas.
A primeira dessa espécie foi New Tales of Space and Time, publicada por Raymond J. Healy, e para ela escrevi “Em boa Causa” (“in a Good Cause”), história esta que com o correr do tempo foi incluída em O Cair da Noite.
Alguns anos mais tarde, August Derleth publicava uma antologia dos origina e para ele elaborei “Á Pausa” (“The Pause”).
A pausa
O pó branco estava encerrado numa cápsula transparente, de paredes finas. A cápsula, por seu turno, estava selada, através de calor, no interior de uma tira dupla de parafilme. No sentido do comprimento da tira de parafilme havia outras cápsulas guardando um intervalo de aproximadamente quinze centímetros umas das outras.
A tira movia-se. Cada cápsula, no decurso do movimento, repousava durante um minuto sobre uma castanha metálica logo abaixo de uma janela de mica. Do outro lado da face do contador de radiação um número era estampado com um estalido sobre um cilindro de papel que se desenrolava. A cápsula continuava a movimentar-se e o número seguinte ocupava seu lugar.
O número impresso à uma e quarenta e cinco da tarde era o 308. Um minuto depois, apareceu o 256, um minuto depois, o391, um minuto depois, 0477, um minuto depois,o 202, um minuto depois, o 251. Um minuto depois, deu 000. Um minuto depois, continuava 000. Um minuto depois, ainda continuava 000...
Pouco depois das duas da tarde, o sr. Alexander Johannison passou pelo contador e com o canto de um olho examinou a sequência de números. Dois passos além do contador, parou e voltou.
Fez voltar o papel do cilindro, recolocou-o na posição e disse:
— Tolice!
Disse-o com veemência.
Era um homem alto e magro, de mãos grandes e ossudas, cabelos cor de areia e sobrancelhas claras. Parecia cansado e, naquele momento, perplexo.
Gene Damelli caminhou sem pressa, com a mesma tranquila indiferença que imprimia a todos os seus movimentos.
Moreno, cabeludo, mais baixo do que alto. Uma vez partiu o nariz, o que o tornava curiosamente dessemelhante da concepção popular do físico nuclear.
Damelli disse:
— Meu maldito Geiger não está fazendo a contagem de coisa alguma e não estou com vontade de fazer uma inspeção na instalação elétrica. Tem um cigarro?
Johannison estendeu o maço:
— E os outros contadores do prédio?
— Não os testei, mas suponho que nem todos estão enguiçados.
— Por que não? Meu contador também não está registrando.
— Nada de piadas. Veja você, com todo aquele investimento. Não significa coisa alguma. Vamos sair e tomar uma Coca-cola.
Johannison foi mais veemente do que pretendia:
— Não! Vou consultar George Duke. Quero ver a máquina dele. Se estiver avariada...
Damelli emendou:
— Não pode estar enguiçada, Alex, não seja burro.
George Dulce ouviu as palavras de Johannison e olhou.o com reprovação por cima dos óculos sem aros. Era um homem de meia- idade, de escassos cabelos e paciência ainda mais escassa.
Disse:
— Estou ocupado.
— Pelo amor de Deus! Tão ocupado que não me pode dizer se o seu aparelho está ou não funcionando?
Duke levantou-se:
— Ora bolas, quando é que a gente encontra tempo para trabalhar aqui? — Sua régua de cálculo caiu estrepitosamente sobre um emaranhado de papéis diagramados, no momento em que contornou a escrivaninha.
Acercou-se de uma atulhada mesa de laboratório e levantou a pesada tampa cinzenta, de chumbo, de um recipiente ainda mais pesado, também de chumbo. Enfiou nele um par de pinças de uns trinta e cinco centímetros de comprimento e retirou um pequeno cilindro cor de prata.
Duke ordenou carrancudo:
— Fique onde está.
Johannison dispensava a advertência. Manteve-se à distância. Não havia estado exposto a qualquer dose anormal de radioatividade no mês anterior, mas não havia necessidade de aproximar-se mais do que o necessário do cobalto “quente”.
Usando sempre as pinças e com os braços bem separados do corpo, Dulce trouxe o reluzente pedaço de metal que continha radioatividade concentrada até à janela do seu contador. A uns sessenta centímetros, o contador deveria ter-lhe despedaçado a cabeça, mas não o fez.
Duke exclamou:
— Já! — e deixou cair o recipiente de cobalto. Lutou furiosamente com o mesmo e levou-o novamente à janela. Mais perto.
Não houve ruído. Os pontos luminosos não apareceram no mostrador. Os números não subiram gradualmente.
Johannison comentou:
— Nem sequer um ruído no equipamento.
Damelli exclamou:
— Santo Júpiter pulador!
Duke repôs o tubo de cobalto no recipiente de chumbo, com a maior cautela deste mundo, e permaneceu lá, em pé, de olhos esbugalhados.
— Johannison irrompeu no escritório de Bill Everard, com Damelli aos calcanhares. Falou excitadamente durante alguns minutos, com as mãos enormes e ossudas apoiadas no tampo da reluzente escrivaninha do outro. Everard escutou-o, as bochechas recém-escanhoadas avermelharam e o pescoço roliço e gordo espichou-se do colarinho alvo e duro.
Everard olhou para Damelli e apontou o polegar interrogativa- mente na direção de Johannison. Damelli encolheu os ombros, estendeu as mãos, com as palmas para cima, enrugando a testa.
Everard disse:
— Não consigo entender como todos eles podem enguiçar.
— Mas a verdade é que enguiçaram — insistiu Johannison — Todos pararam de funcionar mais ou menos às duas horas. Já se passou mais de uma hora e nenhum deles voltou a funcionar. Mesmo George Duke não consegue dar um jeito nisso. Afirmo-lhe que não há nada com os contadores.
— Você está dizendo que há.
— Estou dizendo que não estão funcionando. Mas não por culpa deles. Não há nada que os acione.
— Que quer dizer?
— Digo que não há nenhuma radioatividade no prédio. No prédio todo.
— Não acredito em você.
— Ouça, se um cartucho “quente” de cobalto não aciona um contador de radiações, pode ser que alguma coisa esteja errada com o contador em experiência, mas quando o mesmo cartucho não descarrega um eletroscópio de uma lâmina de ouro, nem mesmo obscurece uma chapa fotográfica, então existe alguma coisa errada com o cartucho de cobalto.
— Certo — disse Everard. — Então está mesmo enguiçado. — Alguém cometeu algum engano, não o enchendo.
— O mesmo cartucho estava funcionando esta manhã. Mas não tem importância. Talvez os cartuchos fossem desativados por qualquer motivo. Todavia, apanhei aquele naco de uraninita de nossa caixa de amostras no quarto andar e ela também não registra nada. Não me diga que alguém esqueceu de colocar urânio nela.
Everard coçou a orelha:
— Que acha, Damelli?
Este meneou a cabeça:
— Não sei, chefe, mas gostaria de saber.
Johannison interpôs:
— Não é hora de pensar, é hora de agir. Tem de telefonar para Washington.
— Para quê? — perguntou Everard.
— Por causa do suprimento de Bombas-A.
— Quê?
— Pode ser a resposta, chefe. Veja, alguém inventou um meio para parar toda radioatividade. Isto pode estar abrangendo todo o país, todos os Estados Unidos. Se tal coisa está ocorrendo, pode simplesmente colocar as nossas Bombas-A fora de ação. Como não sabem onde guardamos as bombas, precisam estender o fenômeno por toda a nação. Se assim for, significa que deve ocorrer um ataque. A qualquer momento, talvez. Use o telefone, chefe!
A mão de Everard avançou para o telefone. Os olhos dele e os de Johannison encontraram-se e fixaram-se.
Ele disse no bocal:
— Um telefonema interurbano, por favor.
Faltavam cinco minutos para as quatro horas. Everard baixou o telefone.
— Era o chefe do Departamento? — perguntou Johannison.
— Sim — respondeu Everard, com expressão carrancuda.
— Pois bem, o que ele disse?
— Filho — tornou Everard — ele perguntou o que é uma Bomba-A.
Johannison pareceu bestificado:
— Que diabo quer ele dizer com “o que são bombas-A”? Já sei. Descobriram que estão tratando com espiões e recusam-se a falar. Até mesmo com a gente. E agora?
— Agora, nada — retorquiu Everard.
— Sentou-se novamente na poltrona e fitou demoradamente o físico:
— Não sei que espécie de pressão está suportando, Alex, de modo que não vou explodir por causa disso. O que me chateia é que me tenha envolvido nessa bobagem.
Johannison empalideceu:
— Não é bobagem. O chefe do departamento disse que é?
— Disse que sou um imbecil, logo sou mesmo. Afinal, o que pretende, ao aparecer aqui com suas fábulas sobre Bombas-A? O que são Bombas-A? Nunca ouvi falar nelas.
— Nunca ouviu falar nas bombas atômicas? O que é isso? Uma piada?
— Nunca. Parece algo saído de revistas em quadrinhos.
Johannison voltou-se para Damelli, cuja tez cor de oliva parecia ter ficado ainda mais escura devido à preocupação.
— Diga-lhe, Gene.
Damelli negou, meneando a cabeça:
— Deixem-me fora disso.
— Muito bem — e Johannison avançou um pouco e pôs-se a examinar a fileira de livros na prateleira pouco acima da cabeça de Everard.
— Não sei a que vem tudo isso, mas não estou de acordo. Onde está Glasstone?
— Aí mesmo — disse Everard.
— Não, não o compêndio de Físico-Química. Quero o Livro de Informações sobre Energia Atômica.
— Nunca ouvi falar de tal livro.
— Que está dizendo? Tem estado em sua estante desde que vim para cá.
— Nunca ouvi falar dele — repetiu Everard obstinadamente.
— Suponho que também não ouviu mencionar Elementos Radioativos na Biologia?
— Não.
Johannison deu um berro:
— Está bem. Vamos utilizar o compêndio de Glasstone. Servirá.
Tirou o grosso volume e começou a virar as páginas. A primeira vez, a segunda...
Fechou a .cara e deu uma rápida olhada na página dos direitos autorais. Dizia: Terceira Edição, 1956 — leu do início ao fim, página por página, os dois primeiros capítulos. Lá estava: estrutura atômica, valor dos números, elétrons e suas células, séries de transição — mas nada, absolutamente nada sobre a radioatividade.
Voltou para o índice dos elementos, na face interna da capa. Levou só alguns minutos para ver que havia apenas oitenta e um elementos arrolados, os oitenta e um não-radioativos.
A garganta de Johannison parecia seca como tijolo. Disse roucamente para Everard.
— Suponho que nunca ouviu falar em urânio.
— O que é? — perguntou Everard indiferentemente — Uma marca registrada?
Em desespero, Johannison abandonou Glasstone e estendeu o braço para o Manual de Química e Física. Consultou o índice. Examinou as séries radioativas, urânio, plutônio, isótopos. Encontrou somente este último. Com dedos nervosos e trêmulos, folheou o livro até encontrar a tábua dos isótopos. Uma olhada rápida. Esta- na registrados apenas os isótopos estáveis.
Falou com voz suplicante:
— Certo, desisto.. Basta. Colocou uma porção de livros apócrifos na estante só para me enervar, não é? — e tentou sorrir.
Everard irritou-se:
— Não seja imbecil, Johannison. É melhor ir para casa. Procure um médico.
— Não estou doente.
— Pode pensar que não, mas está. Precisa de umas férias; portanto, tire umas. Damelli, faça-me um favor: meta-o num táxi e providencie para que ele chegue em casa.
Johannison continuava em pé, irresoluto. Gritou, de súbito:
— Neste caso, para que todos os contadores de radiação do prédio? O que fazem?
— Não sei a que se refere, falando de contadores de radiação. Se quer dizer os computadores, estão aí para solucionar os nossos problemas.
Johannison mostrou uma placa na parede:
— Pois bem! Veja aquelas iniciais: C, E, A! Comissão de Energia Atômica! — destacou as palavras, pronunciando-as separadamente.
Everard, por sua vez, ressaltou: Comissão de Experiências Aéreas!
Johannison voltou-se para Damelli, assim que chegaram a calçada. Disse convictamente:
— Escute, Gene, não banque o palhaço daquele cara. Everard está liquidado. Apanharam-no, de certa forma. Imagine colocar aqueles livros na estante a fim de fazê-lo passar por louco.
Damelli expressou-se com franqueza:
— Calma, meu caro Alex. Está sendo um pouco precipitado. Everard está certo.
— Você o ouviu. Nunca ouviu falar em Bombas-A; urânio é marca registrada. Como pode ele estar certo?
— Bem, se é por isso, eu também jamais ouvi sobre urânio, ou sobre Bombas-A.
Ergueu um dedo:. — Táxi! — mas o carro passou zumbindo. Johannison conseguiu livrar-se da impressão de pilhéria:
— Gene, você estava lá, quando os contadores de radiação enguiçaram; você estava lá, quando o pedaço de uraninita descarregou; você veio comigo até Everard, para endireitar as coisas.
— Se quer a pura verdade, Alex, você afirmou que tinha algo a discutir com o chefe e pediu-me que o acompanhasse, é tudo o que houve. Nada andou errado, pelo que sei, e que diabos estávamos fazendo com um pedaço de uraninita? Não usamos nenhuma espécie de alcatrão no prédio. Táxi!
O carro estacionou ao meio-fio.
Damelli abriu a porta, fez sinal para que Johannison entrasse. Este entrou e, então, com os olhos vermelhos de raiva, arrebatou a porta da mão de Damelli, fechou-a com estrépito e berrou o endereço na cara do motorista. Debruçou-se na janela, no momento em que o carro se afastava, deixando Damelli completamente desorientado e perplexo, de olhos arregalados. Gritou:
— Diga a Everard que não vai dar certo. Sou mais vivo do que todos vocês reunidos.
Recostou-se exausto no assento do carro. Estava certo de que Damelli havia ouvido o endereço dado por ele. Iriam eles em primeiro lugar ao FBI com alguma história de esgotamento nervoso? Levariam a palavra de Everard contra a dele? Não poderiam negar a interrupção da radioatividade. Não poderiam negar os livros falsos. — Mas qual a vantagem de tudo isso? Um ataque inimigo estava em perpetração e homens como Everard e Damelli... como o país estava podre de tanta traição!
Subitamente enrijeceu-se.
— Motorista! — gritou. — Em seguida, repetiu mais alto: — Motorista!
O homem ao volante não se voltou. O tráfego passava suavemente por eles.
Johannison tentou então elevar-se do banco, mas sentia a cabeça zonza.
— Motorista! — balbuciou. Não era aquele o caminho para o FBI. Estava sendo levado para sua própria casa. Como sabia o motorista onde ele morava?
Um motorista “arranjado”, sem dúvida. Johannison mal conseguia ver e havia um estrondo em seus ouvidos.
Santo Deus! que organização. Não valia a pena lutar!
Desmaiou.
Estava subindo a calçada, em direção ao pequeno prédio de dois andares, fachada de tijolinhos, em que ele e Mercedes viviam. Não se lembrava de ter saído do táxi.
Voltou-se. Não havia nenhum carro à vista. Enfiou a mão automaticamente no bolso, para sentir a carteira e as chaves. Lá estavam, nada havia sido tocado.
Mercedes estava à porta, esperando. Não mostrou surpresa ante o retorno dele. Johannison consultou o relógio. Aproximadamente uma hora antes do retorno habitual ao lar.
— Mercy, precisamos cair fora daqui.
Ela falou roucamente:
— Estou a par de tudo, Alex. Entre.
Era o seu paraíso: cabelos lisos, com tendência para o loiro, repartidos e puxados para trás, formando rabo-de-cavalo; olhos azuis, bem separados, com leve inclinação oriental; lábios cheios e orelhas pequenas bem rentes à cabeça. Os olhos de Johannison a devoraram. Não obstante, ele percebeu que ela estava se esforçando ao máximo para ocultar uma certa apreensão.
Ele perguntou:
— Everard telefonou para você? Ou Damelli?
Ela anunciou:
— Temos uma visita.
Ele raciocinou:
— Pegaram-na.
Talvez conseguisse afastá-la da porta: Correriam, tentariam colocar-se em algum lugar seguro. Mas como o conseguiriam? O visitante poderia estar escondido nas trevas do corredor. Poderia ser um indivíduo sinistro — imaginou — de voz grossa e brutal, com sotaque estrangeiro, lá, em pé, com a mão no bolso do paletó, formando um volume maior do que sua própria mão.
Entorpecidamente, deu um passo para dentro da casa.
— Na sala de estar — disse Mercedes. E um sorriso iluminou-lhe momentaneamente o rosto. — Penso que está tudo bem.
O visitante estava em pé. Havia um quê de irreal em torno dele, a irrealidade da perfeição. O corpo e o rosto eram perfeitos e cuidadosamente desprovidos de individualidade. Poderia ter saído de um cartaz de propaganda. A voz era cultivada e desapaixonada, soando como a voz de um anunciador profissional de rádio. Completamente isenta de qualquer inflexão.
Disse:
— Foi um bocado complicado chegar até o dr. Johannison.
Johannison replicou:
— Seja o que for, seja o que quiser, não estou disposto a cooperar.
Mercedes interferiu:
— Não, Alex, você não compreende. Estávamos conversando. Ele afirma que toda radioatividade foi cortada.
— Sim, foi, e gostaria que esse anúncio de colarinho me contasse como foi feito. Escute, você é americano?
— Você ainda não compreendeu, Alex — insistiu a mulher — a radioatividade cessou no mundo inteiro. Este homem não veio de parte alguma da Terra. Não me olhe assim, Alex. É verdade, sei que é verdade. Olhe para ele.
O visitante sorriu. Um sorriso perfeito. Disse:
— Este corpo em que apareço está cuidadosamente construído de acordo com especificações, mas é apenas matéria. Está sob perfeito controle.
Estendeu um braço e a pele deste desvaneceu. Os músculos, os tendões retos e as tortuosas veias ficaram expostos. m seguida, desapareceram as paredes das artérias e o sangue fluía suavemente, sem necessidade de um recipiente. Então tudo desapareceu quando surgiram os ossos cinzentos e lisos, que também sumiram de vista.
Logo tudo reapareceu.
Johannison resmungou:
— Hipnotismo!
— De modo algum! — disse calmamente o visitante.
Johannison perguntou:
— De onde é você?
O visitante respondeu:
— Difícil explicar. Importa?
— Preciso compreender o que está acontecendo — gritou Johannison. — Não pode perceber isso?
— Sim, e para isso estou aqui. Neste momento estou falando a mais de uma centena de pessoas em todos os pontos de seu planeta. Em corpos diferentes, é óbvio, uma vez que segmentos diferentes do seu povo têm padrões e preferências diversas, no que respeita ao aspecto do corpo.
Fugazmente, Johannison pôs-se a imaginar se não estava completamente doido. Perguntou:
— Vem de... é de Marte? Algum lugar assim? Estão fazendo uma invasão? É uma guerra?
— Ouça — disse o visitante — é esta espécie de atitude que estamos empenhados em corrigir. Seu povo está enfermo, dr. Johannison, muito enfermo. Durante dezenas de milhares de anos terrestres temos reconhecido que a espécie humana tem grandes possibilidades. Foi um grande desapontamento verificarmos que o desenvolvimento de sua espécie enveredou por um rumo patológico. Decisivamente patológico.
Meneou a cabeça.
Mercedes fez nova intervenção.
— Ele me dizia, antes de você chegar, que estava tentando nos curar.
— Quem lhe pediu? — perguntou Johannison.
O visitante apenas sorriu e disse:
— Fui designado para a tarefa, há muito tempo, mas tais enfermidades são duras de tratar. Por exemplo, há a dificuldade com a comunicação.
— Estamos nos comunicando — disse Johannison rabugentamente.
— Sim, estamos, no modo de falar. Estou usando seus conceitos, o seu sistema de códigos. É inadequado. Não conseguiria nem mesmo explicar-lhe a verdadeira natureza da enfermidade da sua raça. Pelos seus conceitos, a interpretação mais aproximada que consigo da enfermidade é que se trata de uma doença espiritual.
— Hã?
— É uma espécie de mal social muito delicado de se tratar. Por essa razão tenho hesitado por tanto tempo em tentar a cura. Seria lamentável se, por acidente, uma potencialidade tão grande como a de sua espécie se perdesse para nós. O que tenho tentado fazer durante milênios é trabalhar indiretamente, através dos poucos indivíduos em cada geração imunes à doença. Filósofos, moralistas, guerreiros e políticos. Todos os que vislumbraram a fraternidade mundial. Todos os que...
— Pois bem, falhou. Deixe tudo como está. Que tal agora, se falasse do seu povo e não do nosso.
— O que poderia dizer, que você fosse capaz de compreender?
— De onde vem? Comece por isso.
— Não dispomos de conceituação adequada. Não procedo de parte alguma do curral.
— Do curral?
— Significa o Universo. Venho do lado de lá do Universo.
Mercedes interpôs-se mais uma vez, debruçando-se sobre Johannison:
— Alex, não entende o que ele quer dizer? Suponhamos que você aterrasse na Nova Guiné e de algum modo conversasse com alguns nativos através da televisão. Refiro-me a nativos que nunca viram ou ouviram falar de coisa alguma fora de suas tribos. Você seria capaz de explicar o funcionamento da televisão ou como ela possibilita que alguém fale a muitos homens em muitos pontos simultaneamente? Seria capaz de explicar que a imagem não é você em pessoa, mas simplesmente uma ilusão que você pode fazer desaparecer ou reaparecer? Não seria nem mesmo capaz de explicar de onde vem, quando todo o universo deles é a única ilha em que vivem.
— Bem, neste caso, somos selvagens para ele. É isto? — interpelou-a Johannison.
— Sua mulher está utilizando metáforas. Permita-me terminar. Já não posso mais encorajar a sua sociedade a curar-se a si mesma. A doença foi demasiado longe. Terei que alterar a composição temperamental da espécie.
— De que modo?
— Também não existem nem palavras nem conceitos para explicar isso. Deve compreender que o nosso controle da matéria física é extenso. Foi muito fácil acabar com toda a radioatividade; um pouco mais difícil providenciar para que todas as coisas, os livros inclusive, servissem agora a um mundo que não dispõe de radioatividade. Mais difícil ainda, e levou muito mais tempo, varrer completamente todo pensamento de radioatividade da mente dos homens. Atualmente, o urânio não existe na Terra; ninguém jamais ouviu falar nele.
— Eu ouvi — retrucou Johannison. — E você, Mercy?
— Também me lembro dele — respondeu Mercedes.
— Os dois foram poupados pela mesma razão que outra centena de homens e mulheres em todo o mundo foram poupados — disse o visitante.
— Nenhuma radioatividade — rezingou Johannison, — Para sempre?
— Durante cinco dos seus anos — respondeu o visitante. — Apenas uma pausa, nada mais. Uma simples pausa. Denominem um período de anestesia, para que eu possa moldar a espécie sem o risco de ocorrer uma guerra atômica nesse ínterim. Dentro de cinco anos o fenômeno da radioatividade estará de volta, juntamente com todo o urânio e tório que existem atualmente, O conhecimento também voltará. Aí então vocês entrarão. Vocês e os outros como vocês. Efetuarão a reeducação gradual do mundo.
– É uma tremenda missão. Custou-nos cinquenta anos até atingirmos este estágio. Mesmo admitindo uma segunda vez, por que não restaurar simplesmente o conhecimento? Pode fazê-lo, não pode?
— A operação — frisou o visitante — será séria. Tomará cerca de uns dez anos para que haja a garantia de que não surgirão complicações. De modo que desejamos propositadamente a reeducação lenta.
Johannison disse:
— Como saberemos quando chegou a hora? Digo, quando for concluída a operação?
O estranho sorriu:
— Saberão quando chegar a hora. Pode estar certo disso.
— Poxa, é um negócio dos diabos, esperar cinco anos até que um gongo finalmente soe dentro da cabeça da gente. E se nunca chegar a hora? E se a operação não der certo?
O visitante ficou muito sério:
— Vamos torcer para que dê certo.
— E se não der? Não pode limpar nossos espíritos temporariamente? Deixar-nos viver normalmente até chegar a hora?
— Não, sinto muito. Necessito de mentes intactas. Se a operação redundar em fracasso, se a cura não se realizar, vou precisar de uma pequena reserva de mentes normais e intactas por meio das quais conseguirei o desenvolvimento de uma nova população no planeta, na qual uma nova modalidade de cura possa ser experimentada. A sua espécie tem de ser preservada, custe o que custar. É valiosa para nós. Por isso estou despendendo tanto tempo, demasiado tempo, esforçando-me por explicar a você a situação. Se eu o tivesse abandonado, nas condições em que se encontrava uma hora atrás, cinco dias, para não dizer cinco anos, o teria destruído completamente,
E, sem outra palavra, desapareceu.
Mercedes encetou a rotina de preparar o jantar. Sentaram-se à mesa como se aquele fora um dia como outro qualquer.
Johannison interpelou-a:
— É verdade? Tudo isso é real?
— Eu também vi — disse Mercedes. — Eu também ouvi.
— Examinei meus livros, estão todos modificados. Quando terminar a pausa, estaremos trabalhando baseados inteiramente na memória. Todos os que forem poupados. Teremos que reconstruir os instrumentos. Levará muito tempo transmitir os conhecimentos para os que não conseguirem recordar — enfureceu-se subitamente — e para quê? É o que quero saber: para quê?
— Alex — Mercedes arrazoou timidamente — pode ser que ele tenha estado antes na Terra e tenha falado com as pessoas. Ele tem vivido milhares e milhares de anos. Suponha que ele é o que temos estado imaginando durante muito tempo como...
Johannison ergueu os olhos para ela:
— Deus? É o que está tentando dizer? Como poderia saber? Sei apenas que o povo dele, seja qual for, está infinitamente mais adiantado do que o nosso e que está tentando nos curar de uma enfermidade.
Mercedes disse:
— Neste caso, considero-o um médico ou o equivalente de um médico na sociedade dele.
— Médico? Ele ficou dizendo o tempo todo que o grande problema era a dificuldade de comunicação. Que espécie de médico é esse, que não consegue comunicar-se com seus pacientes? Um veterinário! Um médico de animais!
Afastou o prato. A mulher ponderou:
— Ainda assim, se puser um fim à guerra...
— Por que desejaria fazê-lo? O que representamos para ele? Animais. Para ele somos animais. Literalmente. Foi tudo o que ele disse. Quando o interpelei sobre sua origem, disse-me que não procedia de nenhum curral. Compreendeu? Nenhum curral. Em seguida, corrigiu para Universo. De modo algum veio ele do lado de lá do Universo. A dificuldade em comunicar-se atraiçoou-o. Utilizou-se de um conceito que representava o que o Universo era para ele e não para nós. De modo que o universo é um curral, e nós... cavalos, galinhas, ovelhas. Faça sua opção.
Mercedes falou com serenidade:
— “O Senhor é o meu pastor, nada me faltará...”
— Pare com isso, Mercy. Aquilo é uma metáfora, isto é a realidade. Se ele é um pastor, então somos ovelhas com uma estranha e desnatural capacidade de matar-nos uns aos outros. Por que parar- nos?
— Ele disse...
— Sei o que ele disse. Que temos grandes potencialidades. Que somos muito valiosos, não é?
— Exatamente.
— Contudo, quais são as potencialidades e o valor das ovelhas para um pastor? Ovelhas não costumam ter quaisquer ideias. Nem poderiam tê-las. Se soubessem que acabariam cozidas em fogo lento, talvez preferissem cuidar de suas próprias vidas. Correriam seus próprios riscos com os lobos e com elas mesmas.
Mercedes fitou.o desorientada. Johannison bradou:
— É a pergunta que faço constantemente a mim mesmo nestes dias! Para onde caminhamos? Que direção estamos tomando? As ovelha sabem? Sabemos? Podemos saber?
Ficaram sentados, sem comer, com os olhos fixos nos respectivos pratos.
Lá fora ouviam-se o barulho do tráfego e os gritos de crianças brincando. A noite descia e escurecia gradualmente.
Uma lembrança que guardo com referência a “A Pausa” reforça o meu constante contentamento de que estou fazendo a coisa certa e que não faço parte de qualquer outra faceta do jogo literário.
Foi nos escritórios da Fartar, Strauss & Young, num momento em que a antologia se encontrava na primeira etapa de produção e a mulher que estava cuidando dos interesses daquela editora se torturava com a escolha de um título para a antologia. Esperava-se que fosse “In Time to Come”, mas ela era de opinião que faltava alguma coisa e eu comecei a imaginar alternativas.
— Que acha, dr. Asimov? — perguntou-me, e olhou-me com ar de. súplica. (As pessoas frequentemente pensam que tenho as soluções, quando, às vezes, não tenho nem sequer as perguntas)
Pensei desesperadamente e sugeri:
— Omita a primeira palavra e chame-a “Time to Come”, que reforça o conceito “tempo” e faz com que o título lembre mais a ficção científica.
Ela gritou imediatamente:
— Isso mesmo!
E assim “Time to Come” tornou-se com efeito o título da antologia, quando publicada.
Bem, a modificação do título melhorou as vendas? Como pode- ria um dia saber? Como poderia saber com certeza que não prejudicou as vendas?
Ainda bem que não sou editor.
Enquanto todos os meus escritos estavam em progressão, minhas atividades profissionais na Escola de Medicina iam muito bem. Em 1951 fui promovido a professor-assistente de Bioquímica e tive então o “status” professora! acrescido ao meu grau de doutor. A dupla dose de títulos, no entanto, aparentemente não acrescentou coisa alguma à minha dignidade. Continuava a ter maneiras “poli das, joviais, vigorosas e efusivas”, como dizia Sprague, e assim sou até hoje, como qualquer pessoa que se encontre comigo poderá testemunhar, a despeito do fato de que meus “cabelos castanhos ondulados”, não obstante continuarem ondulados, estão mais compridos e menos castanhos do que costumavam ser.
E toda a efusão possibilitou-me entender-me muito bem com os meus alunos, se bem que não muito bem com alguns membros do corpo catedrático. Felizmente, todos estavam bem conscientes de que eu era um escritor de ficção científica. Como ajudou! Aparentemente, reconciliou-os com o fato de que eu era um excêntrico e, por causa disso, perdoavam-me uma porção de coisas.
Quanto a mim, não me empenhei em encobrir esse fato. Algumas pessoas, em profissões mais sérias, lançam mão de pseudônimos quando sucumbem à tentação de escrever o que receiam ser coisas sem valor. Uma vez que jamais tive a ficção científica na conta de coisa sem valor e já que estivera escrevendo e vendendo minha obra muito antes de ter entrado como membro do corpo docente da Universidade, não me restava alternativa, senão usar o meu próprio estranho nome em minhas histórias.
Por outro lado, não tinha o propósito de envolver a Escola em qualquer coisa que a ferisse em sua dignidade.
Eu havia vendido meu primeiro livro 8-2-7 Era Galáctica (Pebble in the Sky) cerca de seis semanas antes de ter aceito o emprego na Escola de Medicina, O que eu desconhecia era que a Doubleday pretendia explorar comercialmente minha nova situação profissional em conexão com a livro. Somente quando vi a sobrecapa do livro, por volta de 1949, é que tomei conhecimento do que ia ser estampado na última capa.
Juntamente com um bom retrato de minha pessoa, aos vinte e cinco anos de idade (recordação que me parte o coração), havia uma frase final que dizia’. “Dr. Asimov reside em Boston, onde está empenhado em pesquisa sobre o câncer, na Escola de Medicina da Universidade de Boston”.
Ponderei o assunto durante um bom tempo e então decidi-me a fazer a coisa mais justa. Pedi para avistar-me com o Reitor James Faulkner e expus-lhe os fatos com franqueza. Eu era escritor de ficção científica — disse-lhe — e havia-o sido durante anos. Meu primeiro livro estava para ser publicado com o meu verdadeiro nome, e a minha associação com a Escola de Medicina seria mencionada. Aceitava minha resignação?
O reitor, um bostoniano brâmane, com muito senso de humor, perguntou:
— É um bom livro?
Eu disse, prudentemente:
— Os editores afirmam que sim.
Ele então disse:
— Neste caso, a Escola terá enorme prazer em ser identificada com ele,
Aquilo liquidou com o assunto e nunca, durante minha estada na Escola de Medicina, esbarrei com problemas devido à ficção científica. Com efeito, ocorreu a algumas pessoas da Escola usarem-me. Em outubro de 1954 as pessoas que dirigiam o “Boston University Graduate Journal” solicitaram-me umas cem palavras de ficção científica para vivificarem uma de suas edições. Obsequiei-os com “Não Permitamos que...”, então publicada no número de dezembro de 1954.
Não permitamos que...
O professor Charles Kittredge correu com passos longos e indecisos. Chegou em tempo de abater o copo dos lábios do seu colega, o professor Heber Vandermeer. Foi quase como uma ação em câmara lenta.
Vandermeer, aparentemente, havia chegado a tal ponto que não percebeu o ruído surdo das passadas da aproximação de Kittredge e ficou ao mesmo tempo perplexo e envergonhado. Baixou os olhos no copo estilhaçado e na poça que o cercava.
— O que era? — perguntou Kittredge carrancudo.
— Cianeto de potássio. Havia guardado um bocadinho, quando partimos. No caso de...
— Como poderia ter ajudado? Um copo que se foi, também. Agora, isto tem de ser limpo... Não, eu o farei.
Kittredge procurou um precioso pedaço de papelão para ajuntar os fragmentos do copo e um pedaço de pano ainda mais raro e precioso para enxugar o veneno fluido. Saiu para descarregar o copo e, pesarosamente, o papelão e o pano, colocando-os num cano de descarga, que os levaria para a superfície, uma milha acima.
Ao retornar, encontrou Vandermeer sentado no beliche, os olhos vidrados postos na parede. Os cabelos do físico haviam-se tornado muito brancos e, naturalmente, havia perdido muito peso. Não havia gordos no Refúgio. Kittredge, desde sempre, havia sido esguio, magro e grisalho, e tinha mudado muito pouco.
Vandermeer disse:
— Lembre-se dos velhos tempos, Kitt.
— Tento não fazê-lo.
— É o único prazer que nos resta — tornou Vandermeer. — As escolas eram escolas. Havia salas de aula, equipamento, estudantes, ar, luz e gente. Gente.
— Uma escola é uma escola enquanto houver um professor e um aluno.
— Você está quase certo — lamentou Vandermeer. — Há dois professores. Você, de Química; eu, de Física. Nós dois. Todas as outras coisas podemos tirar dos livros. E um estudante graduado. Será o primeiro homem a obter o seu título de doutor aqui–. Uma tremenda distinção. Pobre Jones.
Kittredge levou as mãos às costas para mantê-las firmes.
— Existem outros vinte jovens que viverão o suficiente para obterem um dia seus diplomas.
Vandermeer ergueu os olhos. Seu rosto tornou-se cinzento:
— O que lhes ensinamos, neste ínterim? História? Como o homem descobriu o que faz o hidrogênio expandir-se, e ficou alegre tal qual uma cotovia enquanto o hidrogênio se expandia cada vez mais? Geografia? Somos capazes de descrever como os ventos sopraram partículas reluzentes por toda parte e as correntes d'água carregaram os isótopos dissolvidos para a superfície e as profundezas do oceano?
Kittredge impressionou-se muito com as palavras do colega. Ele e Vandermeer eram os únicos cientistas qualificados que conseguiram safar-se em tempo. A responsabilidade pela existência de uma centena de homens, mulheres e crianças era deles, ali, ao abrigo dos perigos e rigores da superfície e do terror que o homem havia criado naquela imitação da vida, meia milha abaixo da crosta do planeta.
Tentou, desesperadamente, injetar um pouco de coragem em Vandermeer. Disse, com todo o vigor possível:
— Você sabe que precisamos ensiná-los. Precisamos manter viva a Ciência, para que possamos um dia povoar novamente a Terra. Começar tudo de novo.
Vandermeer não respondeu. Voltou o rosto para a parede.
Kittredge disse:
— Por que não? Mesmo a radioatividade não dura eternamente. Que demore mil anos, cinco mil anos. Algum dia o nível de radiação da superfície da Terra cairá para níveis suportáveis.
— Algum dia.
— Algum dia, é claro. Não percebe que o que temos aqui é a mais importante escola na história do homem? Se formos bem sucedidos, você e eu, os nossos descendentes terão céu aberto e água corrente e potável, novamente. Terão até — e sorriu obliquamente — escolas de alto nível tais como as de que nos lembramos.
Vandermeer disse:
— Não acredito em nada disso. No início, quando isto parecia melhor do que morrer, eu teria acreditado em qualquer coisa. Agora, contudo, isso simplesmente não faz sentido. De forma que os ensinaremos aqui tudo o que sabemos e em seguida morreremos... aqui
— Jones, todavia, dentro de pouco tempo estará lecionando com a gente e, em seguida, haverá outros. Os jovens, que mal se recordarão dos velhos tempos, serão professores e, em seguida, os jovens que terão nascido aqui também ensinarão. Será o ponto crítico. A partir do momento em que indivíduo nascido aqui assumir, não haverá recordações para destruir o moral. Será a vida deles e terão um objetivo com que se empenhar, algo por que lutar... um mundo inteiro para conquistar novamente. Van, se mantivermos vivo o conhecimento da ciência física num nível escolar elevado — você compreende, não é?
— Claro que compreendo — exasperou Vandermeer — mas será possível?
— Desistir torna tudo impossível, isto é certo.
— Bem, tentaremos — tornou Vandermeer quase num sussurro.
Em seguida, Kittredge deitou-se em seu próprio beliche, fechou os olhos e fez desesperados votos de que pudesse estar em pé, na superfície do planeta, envergando seu traje protetor, Só por algum tempo, só durante algum tempo. Ficaria em pé ao lado do casco da espaçonave que havia sido desmontada a fim de que suas peças fossem aproveitadas para aquela simulação que era a imitação da vida lá embaixo. Em seguida, poderia reunir coragem um pouco depois do pôr do sol olhando e vendo uma vez mais, somente uma vez mais, a brilhante estrela vespertina morta que era a Terra, luzindo através da fria e fina atmosfera de Marte,
Há pessoas que me acusam de tirar o máximo do proveito em tudo o que escrevo. Em verdade, esta minha praxe não é deliberada, mas devo admitir que dá lucro. Pelo menos, até 1954 era o que estava acontecendo.
Eu havia escrito “Não Permitamos que...” (“Let’s Not”) para a minha escola e, evidentemente, não estava sendo pago para isso, nem esperava sê-lo. No entanto, pouco depois, Martin Greenberg, da Gnome Press, pediu uma introdução para uma nova antologia que ele estava planejando, “Tudo Acerca do Futuro” (All About the Future), a qual estava programada para publicação em 1955.
Para ser franco, não queria recusar-me a fazê-la, porquanto gostava de Martin Greenberg, muito embora ele estivesse atrasado anos com o pagamento de meus direitos autorais. Por outro lado, não pretendia premiá-lo com mais material, de forma que assumi o compromisso.
— Que tal uma pequena história? — propus, e ofereci-lhe “Não Permitamos que...”. Ele a fez imprimir como uma das introduções (a outra, um pouco mais convencional, foi feita por Robert A. Heinlein) e, maravilha das maravilhas, pagou-me dez dólares por ela.
Naquele mesmo ano cheguei a outro ponto crítico. (É estranho como há tantos pontos críticos na vida de uma pessoa, e como é difícil reconhecer quando aparecem.)
Eu havia estado escrevendo não-ficção durante um espaço de tempo relativamente curto, desde os dias de minhas dissertações professorais. Havia os escritos científicos que diziam respeito às minhas pesquisas, por exemplo. Não eram muitos, porque não me tomou muito tempo descobrir que, efetivamente, eu não era um pesquisador muito entusiasta. Por outro lado, redigi-los era uma tarefa medonha, de vez que os escritos científicos são detestavelmente estilizados e primam pela má qualidade.
O manual foi mais agradável, mas na composição dele eu havia sido constantemente atrapalhado e amarrado pelos meus dois colaboradores — homens maravilhosos, ambos, mas com estilos diferentes do meu. A frustração levou-me ao desejo de querer escrever um livro de Bioquímica sozinho, não para estudantes de Medicina, mas para o público, de um modo geral. Contudo, considerava-o meramente um sonho, pois não conseguia conceber deixar para trás a minha ficção científica.
Todavia, meu colaborador, Bill Boyd, havia escrito um livro popular sobre Genética, A Genética e as Raças de Homens, e, em 1953, chegou de Nova Iorque um tal Henry Schuman, proprietário de uma pequena editora com o mesmo nome. Tentou persuadir Bill a escrever um livro para ele, mas por estar ocupado e sendo uma pessoa de bom coração, Bill tentou dissuadi-lo diplomaticamente, apresentando-o para mim, com a sugestão de que me mandaria escrever um livro.
É claro que concordei e escrevi imediatamente o tal livro. No entanto, quando chegou o momento da publicação, Henry Schuman havia vendido sua firma a outra pequena editora, Abelard. Quando então meu livro veio a público, chamou-se Substâncias Químicas da Vida.
Foi o primeiro e o último livro de não-ficção que saiu com o meu nome; o primeiro livro de não-ficção que já escrevi para o público em geral.
O que é mais importante: revelou-se unia tarefa muito fácil, muito mais fácil do que a minha ficção científica. Demorei apenas dez semanas para escrevê-lo, nunca despendendo mais do que uma ou duas horas diárias nele, e foi intensamente divertido. Imediatamente, passei a imaginar outros livros similares, de ficção científica, que eu poderia fazer o que deu início a um curso de ação que deveria preencher a minha vida — muito embora não tivesse a mínima noção, naquela época, de que isso iria acontecer.
Naquele mesmo ano, também, tudo indicava que um segundo rebento estava a caminho. O segundo também nos apanhou de surpresa e criou um problema muito sério.
No início, quando nos mudamos para nosso apartamento, em Waltham, na primavera de 1951, éramos somente dois. Dormíamos num quarto e o outro era o estúdio. Meu livro The Currents of Space foi escrito no segundo dormitório.
Após o nascimento de David, tendo ele crescido ao ponto de exigir um quarto exclusivo para si ficou com o segundo quarto e meu estúdio foi ocupar o quarto de casal; e foi ali que Caça aos Robôs foi composto.
Em seguida, em 19 de fevereiro de 1955, nasceu minha filha Robyn Joan e mudei-me antecipadamente para a saleta, Era o único lugar que nos restava. A quarta de minhas novelas, “Lucky Starr”, devia começar no mesmo dia em que ela veio para casa, procedente da maternidade. Foi O Grande Sol de Mercúrio e dediquei-a a “Robyn Joan, que fez o que pôde para interferir”,
A interferência foi de excessiva eficácia. Com uma criança em cada quarto e eu na saleta, a coisa já estava bem ruim, mas com o tempo, Robyn também ficaria grande e necessitaria de um quarto só para si, de modo que decidimos sair à procura de uma casa.
Foi traumatizante, Eu nunca tinha morado numa casa, Durante todos os meus trinta e cinco anos de existência, tinha vivido numa série de apartamentos alugados. No entanto, o que tinha de ser, tinha de ser. Em janeiro de 1956, encontramos uma casa em Newton, Massachusetts, bem a oeste de Boston, e a 12 de março de 1956, a ocupamos.
Em 16 de março de 1956, ocorreu em Boston uma das piores tempestades de neve de que se tem memória, e caiu cerca de 1 metro de neve. Por jamais ter lidado com a neve anteriormente, encontrei-me andando como um bobo na ampla e profunda entrada de carros. Mal conseguira desenterrar-me quando, no dia 20 de março de 1956, uma segunda tempestade de neve desabou e caiu um metro e vinte centímetros de neve.
A neve em processo de dissolução amontoou-se do lado de fora das paredes da casa, infiltrou-se na madeira e caiu no porão — tivemos então uma pequena inundação. — Por Deus, como eu gostaria de estar de volta ao apartamento.
Não obstante, sobrevivemos. Seguiu-se então uma preocupação muito maior — para mim, pelo menos. Minha vida havia mudado tão radicalmente, em parte por causa de dois filhos, uma casa, e uma hipoteca, que comecei a pensar se ainda teria condições para escrever. Minha novela Os Robôs, tinha sido concluída dois dias antes da mudança.
Vocês compreendem, desenvolve-se a noção de que um escritor é uma planta delicada que precisa ser nutrida com extremo cuidado ou então murchará que qualquer mudança abrupta no modo de vida dele fatalmente dará a impressão de que todos os botões estão despencando.
Em virtude das nevascas, do exercício de remover a neve, bem como o escoamento do porão através de bombeamento e outras coisas, não tive chance de escrever durante algum tempo.
Logo, porém, Bob Lowndes pediu-me que escrevesse uma história para Future e, em junho de 1956, dei início ao meu trabalho literário na nova casa. Acontecia então a primeira onda de calor da temporada, mas o porão era fresco, de modo que para lá levei a máquina de escrever e passei a desfrutar do singular luxo de sentir- me refrescado durante uma vaga de calor.
Não havia problemas. Ainda era capaz de escrever. Produzi “Explorador, Cada Um” (“Each an Explorer”), que apareceu na edição número 30 de Future (os números desta revista eram tão irregulares na época, que se julgou mais seguro não designar o mês nos números).
Explorador, cada um
Herman Chouns era um homem de palpites. Às vezes acertava, às vezes errava — mais ou menos cinquenta por cento. Contudo, considerando-se que a gente dispõe de um mundo inteiro de possibilidades do qual pode extrair respostas corretas, cinquenta por cento de respostas certas parece muito bom.
Chouns nem sempre estava satisfeito com o assunto, como se poderia esperar. Vivia sob excessiva tensão. As pessoas faziam uma tremenda confusão com um problema, sem conseguir solucioná-lo, e em seguida recorriam a ele, perguntando: “O que acha, Chouns? Apele para a sua velha intuição”.
E quando ele surgia com alguma resposta que redundasse em fracasso, a responsabilidade era toda dele.
Sua profissão, explorador de jazidas, tornava as coisas piores.
— Acha que vale a pena um exame mais atento do planeta? — perguntavam. — Qual a sua opinião?
E assim foi um alívio retirar-se para um local em que trabalhariam somente dois homens, para variar (significando isto que a próxima viagem o levaria a um local de pouca prioridade, o que afastaria um pouco a pressão), e, sobretudo, tendo Allen Smith como companheiro.
Smith era tão realista quanto o próprio nome. Disse a Chouns, logo no primeiro dia:
— O que há com você é que os arquivos de sua memória possuem características extras. Quando confrontado com um problema, você é capaz de lembrar-se de pequeninas coisas que talvez as outras pessoas não sejam capazes de lembrar para conseguir uma solução. Dizer que é intuição, simplesmente torna misterioso o que não é.
Alisou os cabelos para trás, ao dizê-lo. Tinha cabelos castanho-claros que lhe assentavam na cabeça como um capacete.
Chouns, cujos cabelos eram muito rebeldes e cujo nariz era arrebitado e algo deformado, disse devagar (ao seu modo):
— Penso que talvez seja telepatia.
— O quê?
— Apenas um vestígio dela.
— Baboseiras! — disse Smith, rindo alto (ao modo dele). — Os cientistas têm estado pesquisando “psiônica” há mais de mil anos e até agora não chegaram a uma conclusão. Não existe uma tal coisa; nada de pró-conhecimento, nada de telecinésia, nada de clarividência ou telepatia.
— Admito-o, mas pense nisto: se formo um quadro do que cada pessoa está pensando — mesmo que não esteja consciente do que está acontecendo — eu seria capaz de integrar a informação e surgir com uma resposta. Seria capaz de conhecer mais do que cada indivíduo do grupo, de forma que estaria em condições de formar um melhor juízo do que os outros... às vezes.
— Tem alguma prova disso?
Chouns voltou os mansos olhos para o outro:
— Apenas um palpite.
Davam-se bem. Chouns aceitava de bom grado o revigorante sentido prático do outro e Smith tratava com condescendência as especulações do companheiro. Discordavam frequentemente, mas jamais brigavam.
Mesmo quando atingiam seus objetivos, que consistiam num cúmulo globular que ainda não havia sentido os impulsos energéticos de um reator nuclear desenhado por humanos, a crescente tensão não piorou as coisas.
Smith disse:
— Imagine o que fazem com estas informações, lá na Terra. Parece um desperdício, às vezes.
Chouns disse:
— A Terra está apenas começando a expandir-se. Não se sabe até que ponto a humanidade ocupará a galáxia. Digamos um milhão de anos, mais ou menos. Toda informação que conseguirmos em qualquer mundo será de utilidade algum dia.
— Você parece um manual de recrutamento para os Grupos de Exploração. Supõe que haverá alguma coisa interessante nesta coisa? — e mostrou a chapa sobre a qual, centralizados como talco, estavam os cúmulos, já não multo distantes.
— Pode ser. Tenho um palpite... — Chouns calou-se, engoliu em seco, piscou umas duas vezes e então sorriu fracamente.
Smith bufou:
– Vamos fixar-nos no grupo de estrelas mais próximo e fazer uma passagem a esmo pelo grupo mais compacto delas. Quando conseguirmos dez, poderemos achar a média McKomin abaixo de 0.2.
— Você vai perder — murmurou Chouns. Sentiu o forte estremecimento causado pela emoção que sempre ocorria quando novos mundos estavam prestes a espalharem-se debaixo deles. Era uma sensação poderosamente contagiante, que envolvia centenas de jovens todo ano. Jovens, tais como ele havia sido; um dia, ligados aos Grupos, ansiosos por contemplar os mundos que os seus descendentes algum dia possuiriam, um explorador, cada um deles...
Prepararam-se, efetuaram o primeiro avanço hiperespacial nas proximidades do cúmulo estelar e começaram a esquadrinhar as estrelas do sistema planetário. Os computadores fizeram seu trabalho; os arquivos de informações foram-se enchendo paulatina e constantemente e tudo decorreu satisfatoriamente, como de costume — até que no sistema 23, pouco depois da conclusão do avanço, os motores hiperatômicos da espaçonave falharam.
Chouns gaguejou:
— Engraçado, os analisadores não dizem o que está errado.
Tinha razão. As agulhas oscilavam desordenadamente, sem nunca pararem uma só vez por um razoável espaço de tempo, de modo que não era possível nenhum diagnóstico. Consequentemente, nenhum reparo poderia ser levado a efeito.
— Nunca vi coisa igual — resmungou Smith. — Teremos que desligar tudo e fazer o conserto manualmente.
— Melhor fazermos tudo sem pressa — disse Chouns, que estava permanentemente nos telescópios — nada errado com a trilha espacial habitual e há dois respeitáveis planetas neste sistema.
— Oh? Até que ponto respeitáveis, e quais são?
— O primeiro e o segundo, de um total de quatro; ambos com água e oxigênio. O primeiro é um pouco mais quente e maior do que a Terra; o segundo, um pouco menor e mais frio. Esclarecido?
— Há vida?
— Em ambos pelo menos vegetação.
Smith resmungou. Nada havia que pudesse surpreender alguém: a vegetação ocorria com mais frequência do que nunca nos mundos providos de água e oxigênio. E, ao contrário da vida animal, a vegetação podia ser vista telescopicamente — ou, mais precisamente, espectroscopicamente. Somente quatro pigmentos fotoquímicos haviam sido um dia encontrados em qualquer forma de planta e cada um deles podia ser detectado pela natureza da luz refletida.
Chouns disse:
— A vegetação em ambos os planetas é do tipo clorofila, nem mais nem menos. Deve ser exatamente como a da Terra, muito familiar.
Smith perguntou:
— Qual está mais próximo?
— Número dois, e estamos a caminho. Tenho o pressentimento de que vai ser um belo planeta.
— Farei o julgamento através dos instrumentos, se não se opõe — disse Smith.
No entanto, parecia um dos palpites acertados de Chouns. Era um planeta bem delineado, com uma intrincada rede de oceanos que lhe asseguravam um clima de pequena variação de temperatura. As cadeias de montanhas eram baixas e arredondadas e a distribuição da vegetação indicava alta e generalizada fertilidade.
Chouns estava no controle para a aterragem.
Smith impacientou-se:
— Por que está selecionando tanto? Qualquer lugar serve.
— Estou procurando uni local livre — disse Chouns. — Não vale a pena queimar um acre de vida vegeta!.
— E se queimar?
— E se não queimar? — tornou Chouns e localizou o ponto desértico.
Foi apenas depois da aterragem que se deram conta de uma pequena porção do terreno sobre o qual haviam desastradamente aterrado.
— Depósito espacial de aluvião saltitante — disse Smith.
Chouns ficou perplexo. A vida animal era muito mais rara do que a vegetação e os próprios vislumbres de inteligência eram ainda mais raros; no entanto, acolá, a menos de uma milha do ponto de descida, havia um ajuntamento de casinhas baixas, com teto de palha que sem dúvida eram o resultado de uma inteligência primitiva.
— Cuidado! — disse Smith deslumbradamente.
— Não creio que possa haver algum perigo — disse Chouns. Desceu confiantemente no planeta. Smith seguiu-o.
Chouns controlava com dificuldade o empolgamento.
— Mas é surpreendente! Ninguém jamais relatou qualquer coisa melhor do que cavernas ou entrelaçado de galhos.
— Espero que sejam inofensivos.
— Aqui é tranquilo demais para que seja qualquer outra coisa. Cheire o ar.
Ao aterrar, viram que o terreno — em todos os pontos do horizonte, exceto onde uma baixa cadeia de colinas interrompia a linha igual do horizonte — apresentava uma cor rosa-pálido calmante, que se fundia com o verde-clorofila das plantas. Observando-se mais atentamente, o rosa-pálido dividia-se em fragrantes e frágeis flores individuais. Apenas as áreas da vizinhança imediata das cabanas mostravam uma coloração âmbar, num matiz que lembrava cereais.
Algumas criaturas estavam emergindo das cabanas, aproximando-se da espaçonave como se levados por um hesitante impulso. Tinham quatro pés e corpo em declive que media pouco mais de uni metro até os ombros. Os olhos eram protuberantes e as cabeças firmemente montadas sobre os ombros (Chouns contou seis). Estavam dispostos em círculos e capazes dos mais desconcertantes movimentos independentes (compensam a imobilidade da cabeça, pensou ele).
Cada animal tinha cauda bifurcada, formando duas vigorosas fibrilas que mantinham levantadas. As fibrilas tinham um tremor rápido e ininterrupto que lhes dava uma aparência nebulosa e indistinta.
— Vamos — disse Chouns. — Não nos farão nenhum mal.
Os animais acercaram-se dos homens, guardando uma cautelosa distância. Suas caudas produziam um zumbido modulado.
— Pode ser que se comuniquem desta maneira — disse Chouns.
— Suponho que, obviamente, são vegetarianos. — Apontou para uma das choupanas, onde um pequeno membro da espécie estava acocorado, arrancando espigas do cereal âmbar e levando-as à boca com a cauda, como se fosse homem chupando uma série de cerejas de marasquino colocadas na extremidade de palitos.
— Os seres humanos comem alface — ressaltou Smith — mas isto não prova coisa alguma.
Mais criaturas com cauda apareceram, rodearam os homens por instantes e em seguida desapareceram no cenário cor-de-rosa e verde.
— Vegetarianos — disse Chouns com firmeza. — Veja como cultivam o principal produto.
O principal produto, como Chouns o denominou, consistia de uma coroa de espigas verdes, rente ao chão. Do centro dela emergia um caule peluginoso que, a intervalos de uns sete centímetros, lançava botões carnudos e venosos que quase pulsavam, tão impressionante era sua aparente vitalidade, O caule terminava em pálidos botões cor-de-rosa que, a não ser pela tonalidade, eram as coisas que mais lembravam a Terra no que respeita às plantas.
As plantas estavam dispostas em fileiras com precisão geométrica. O solo em torno das mesmas era bastante fofo e pulverizado com uma substância que só podia ser algum fertilizante. Estreitos vãos, com largura apenas suficiente para a passagem de um animal de cada vez, cruzavam o campo de cultivo e cada passagem era provida de estreito canal, evidentemente para água.
Naquele momento os animais estavam disseminados pelos campos de cultivo, trabalhando diligentemente, cabisbaixos, Só alguns permaneciam perto dos dois homens.
Chouns abanou a cabeça:
— São bons fazendeiros.
— Nada mau — concordou Smith. — Caminhou apressadamente até o mais próximo botão cor-de-rosa e tentou apanhar um deles; mas, faltando uns quinze centímetros para apanhá-lo, foi sustado pelo som agudo e penetrante de uma cauda vibradora e pelo toque de uma delas no seu ombro, O toque foi delicado, mas firme, interpondo-se entre Smith e as plantas.
Smith recuou:
— O que? No espaço?
Já tinha levado a mão ao desintegrador, quando Chouns advertiu-o:
— Não há motivo para nervosismo, calma...
Então, meia dúzia das criaturas rodearam-nos, oferecendo-lhes gentil e humildemente espigas do cereal, alguns usando a cauda, outros empurrando-as para a frente com o focinho.
Chouns disse:
— São bastante amistosos. Colher uma flor poderia ser contra os hábitos deles; provavelmente as plantas devem ser cultivadas consoante normas rígidas. Qualquer civilização que tenha agricultura provavelmente tem cultos à fertilidade, e só Deus sabe o que isso envolve. As regras que governam o cultivo das plantas têm de ser rigorosas, caso contrário não existiriam aquelas fileiras de plantas distribuídas com tamanha precisão... Espaço! Não vão cair de costas lá na Terra, quando ouvirem isto?
A. cauda zumbidora estridulou alto novamente e as criaturas que estavam perto recuaram. Outro membro da raça estava saindo de uma casa maior no centro do grupo.
— O chefe, suponho — balbuciou Chouns.
O recém-aparecido avançou lentamente, de cauda erguida, cada fibrila envolvendo um objeto negro. A um metro e meio de distância a cauda dobrou-se para a frente.
— Está nos entregando algo — disse Smith, atônito. — Chouns, pelo amor de Deus, veja o que é!
Era o que Chouns estava fazendo, febrilmente. Falou sufocada- mente:
— São visores hiperespaciais Gamow. Aqueles instrumentos de dez mil dólares!
Smith saiu novamente da espaçonave, dali a uma hora. Da rampa, gritou entusiasmado:
— Funcionam. Estão em perfeito estado. Somos ricos!
Chouns gritou de volta:
— Estive vasculhando as casas deles e não consegui encontrar mais nenhum.
— Não torça o nariz por causa de serem apenas dois. Santo Deus, são tão negociáveis como um punhado de dinheiro sonante.
Contudo, Chouns continuava a olhar em redor, com as mãos nos quadris, exasperado. Três das criaturas rabudas o tinham seguido obstinadamente de cabana em cabana — pacientemente, nunca interferindo, mas sempre interpondo-se entre ele e o cultivo de botões cor-de-rosa. Naquele momento, os olhares fixos multiplicavam-se sobre ele.
Smith disse:
— Veja, é o último modelo — mostrou o letreiro que dizia “Modelo X-20”, Produtos Gamow, Varsóvia, Setor Europeu.
Chouns relanceou nas letras e disse impacientemente:
— O que me interessa é conseguir mais. Sei que existem mais visores Gamow em algum lugar. Quero-os. — Suas bochechas estavam afogueadas e a respiração pesada.
O sol estava desaparecendo no horizonte; a temperatura caíra a um ponto desconfortável. Smith espirrou duas vezes, no que foi seguido de Chouns.
— Vamos apanhar pneumonia - fungou Smith.
— Preciso levá-los a compreender — disse Chouns teimosamente. Tinha comido apressadamente uma lata de linguiça de porco, tomado uma lata de café e estava pronto para tentar mais uma vez.
Ergueu bem alto o visor:
— Mais — disse — mais — fazendo movimentos circulares com o braço. Apontou para um visor e depois para o outro e, em seguida, para os instrumentos imaginários adicionais alinhados diante dele: — Mais.
Em seguida, quando o que restava do sol mergulhou de vez no horizonte, ergueu-se um grande zumbido de todas as partes do campo de cultivo, no momento em que cada uma das criaturas à vista imergiu a cabeça,, ergueu a cauda bifurcada e vibraram-na na gritante invisibilidade, do crepúsculo.
— Pelo espaço! — resmungou Smith inquietamente. — Veja, veja os botões! — e espirrou novamente.
— As pálidas flores cor-de-rosa estavam murchando a olhos vistos. Chouns falou aos berros, a fim de fazer-se ouvir acima do zumbido:
— Pode ser uma reação ao pôr do sol. Você sabe, os botões fecham à noite. O barulho pode ser uma observância religiosa do fato.
Um leve toque de uma cauda em seu pulso atraiu imediatamente a atenção de Chouns. A cauda que tinha sentido pertencia à criatura mais próxima dele. No momento, estava levantada, apontando o céu, na direção de um objeto brilhante, num ponto distante do horizonte ocidental, A cauda dobrou-se para mostrar o visor e, então, ergueu-se novamente para uma estrela.
Chouns disse excitadamente:
— Naturalmente... o planeta interior; o outro habitável. Estes possivelmente vieram de lá — em seguida, lembrado pelo pensamento, gritou sobressaltado: — Hei, Smith, os motores superatômicos continuam enguiçados!
Smith pareceu assustado, como se tivesse também esquecido, mas então resmungou:
— Pretendia dizer-lhe... estão em condições.
— Consertou-os?
— Nunca coloquei as mãos neles. Mas, quando estava testando os visores, liguei os hiperatômicos e funcionaram. Na hora, não dei muita atenção. Esqueci-me de que havia alguma coisa errada. De qualquer forma, funcionaram.
— Vamos, então — disse Chouns em seguida. A ideia de dormir não lhe passou pela cabeça.
Nenhum dos dois dormiu durante a viagem de seis horas. Permaneceram nos controles numa espécie de paixão alimentada por drogas. Mais uma vez escolheram um local deserto para aterrar.
Era uma tarde quente, de calor subtropical, e um rio barrento e largo fluía placidamente ao lado deles. A margem mais próxima era de lama endurecida, repleta de grandes cavidades.
Os dois homens pisaram na superfície do planeta. Smith gritou, roucamente:
— Chouns, veja aquilo!
Chouns safou-se da mão do outro e disse:
— Que diabos! As mesmas plantas!
Não havia possibilidade de engano: as mesmas flores cor-de-rosa, os mesmos caules de frutos venosos e carnudos e a mesma pequena coroa com espigas. Ainda uma vez ocorria o espaçamento simétrico, o bem cuidado plantio e fertilização e os canais de irrigação.
Smith ponderou:
— Cometemos um engano e voamos em círculos...
— Oh, veja o sol: tem o dobro do diâmetro de antes. E veja acolá!
Dos sulcos mais próximos da beira do rio emergiram coisas sinuosas e levemente bronzeadas. Tinham mais ou menos uns trinta centímetros de diâmetro por uns três metros de comprimento. As suas extremidades eram igualmente desprovidas de faces, igualmente embotadas. Havia protuberâncias na parte superior de seus corpos. Todas as protuberâncias, como se tivessem recebido um sinal, transformaram-se, diante dos olhos dos homens, em saliências ovaladas, que se repartiram, formando bocas sem lábios, escancaradas, que se abriam e fechavam, emitindo estalidos que lembravam uma floresta de galhos secos.
Em seguida, exatamente como no planeta exterior, logo que a curiosidade deles foi satisfeita e acalmados os seus temores, a maior parte das criaturas afastou-se flutuante, tomando prudentemente a direção dos campos de cultivo.
Smith espirrou. A força do ar expelido contra a manga do seu traje levantou uma nuvem de pó.
— Ele a olhou, atônito, e em seguida deu tapinhas no próprio corpo.
— Bolas, estou cheio de pó.
O pó elevou-se como uma névoa de pálida cor rosada.
— E você também — acrescentou, aplicando tapinhas no corpo de Chouns.
Ambos espirraram à vontade.
— Suponho que apanhamos isto no outro planeta — comentou Chouns.
— Podemos contrair uma alergia.
— Impossível — Chouns ergueu um dos visores e gritou para os seres serpentiformes: — Têm alguma coisa parecida com isto?
Não houve resposta durante algum tempo; apenas o ruído do espirro de água quando algumas criaturas deslizaram para o rio e emergiram com porções prateadas de vegetação aquática que enfiavam por baixo do corpo, na direção de uma boca qualquer oculta.
Logo, contudo, uma criatura-serpente, mais comprida do que as outras, apareceu, movendo-se por impulsos no chão, com uma das extremidades do corpo levantada uns cinco centímetros, interrogativamente, torcendo-se cegamente de um lado para outro.
A excrescência do centro do corpo inchou levemente no início, mas logo cresceu alarmantemente, repartindo em duas partes com estampido. E lá, aninhados entre as duas partes, havia mais dois visores, duplicatas dos dois iniciais.
Chouns comentou enlevado:
— Deus do céu, não é maravilhoso?
Avançou apressadamente, com as mãos estendidas para os objetos. A excrescência que as segurava afinou-se e encompridou-se, formando algo semelhante a tentáculos que se estenderam para ele.
Chouns gargalhava. Eram visores Gamow, sem dúvida, duplicatas, perfeitas cópias dos dois primeiros. Chouns acariciou-os.
Smith estava gritando:
— Está me ouvindo, Chouns? Caramba, Chouns, preste atenção.
Chouns perguntou:
— O que é?
Estava vagamente consciente de que Smith estava a gritar-lhe há mais de dois minutos.
— Olhe as flores, Chouns.
Estavam fechando, exatamente como as do outro planeta, e entre as passagens as criaturas serpentiformes estavam apoiadas sobre uma das extremidades do corpo, oscilando e balançando-se num ritmo irregular e estranho. Somente as extremidades rombudas podiam ser vistas por cima das flores rosa-pálido.
Smith refletiu:
— Não se pode dizer que estão encerrando suas atividades por causa do anoitecer, pois é dia claro.
Chouns encolheu os ombros:
— Planeta diferente, planta diferente. Vamos. Conseguimos apenas dois visores aqui; deve haver mais.
— Chouns, voltemos para casa — Smith fez das pernas duas verdadeiras colunas e a garra em torno do pescoço de Chouns estreitou-se.
O rosto de Chouns, avermelhado, voltou-se indignado para ele:
— O que está fazendo?
— Estou pronto para deixá-lo inconsciente, se não voltar comigo imediatamente para a espaçonave.
Chouns permaneceu em pé, irresoluto, por um instante. Em seguida, o seu entusiasmo desmedido pareceu desvanecer, uma espécie de frouxidão apoderou-se dele. Disse:
— Está bem.
Estavam a meio caminho para fora da constelação. Smith perguntou:
— Como se sente?
— Chouns sentou-se ereto no beliche e passou a mão pelos cabelos:
— Normal, penso. Quanto tempo estive dormindo?
— Doze horas.
— E você?
— Apenas cochilei.
Smith voltou-se ostensivamente para os instrumentos e efetuou algumas pequenas correções e perguntou, algo constrangido:
— Sabe o que aconteceu lá nos planetas?
Chouns perguntou, devagar:
— Você sabe?
— Acho que sim.
— Oh! Posso saber?
Smith explicou:
— Havia as mesmas plantas em ambos os planetas. Admite isto?
— Certamente.
— De alguma forma, foram transplantadas de um planeta para outro. Crescem perfeitamente em qualquer um deles, mas, ocasionalmente — imagino que para conservar o vigor — é preciso realizar uma fertilização cruzada — a fusão de duas espécies de plantas. Esta espécie de coisa acontece com frequência na Terra.
— Fecundação cruzada para manter o vigor? Sim.
— Contudo, nós fomos os agentes que efetuaram a fusão. Aterramos num planeta e fomos cobertos de pólen. Lembra-se do fechamento dos botões? Deve ter ocorrido exatamente depois de terem liberado o pólen; foi também o que nos fez espirrar. Em seguida, aterramos no outro planeta e removemos o pólen de nossas roupas. Uma nova linhagem híbrida terá início. Atuamos exatamente como um casal de abelhas de duas pernas, Chouns, cumprindo nossa missão junto às flores.
Chouns sorriu provocadoramente:
— Num certo sentido, uma inglória missão.
— Bem, não é bem isso. Não percebe o perigo? Não vê por que temos que voltar rapidamente pan casa?
— Por quê?
— Porque os organismos não se adaptam a nada. Aquelas plantas parecem plantadas para a fertilização interplanetária. Fomos recompensados, tal como as abelhas. Não com o néctar, mas com os visores Gamow.
— E daí?
— Bem, não se pode ter fertilização interplanetária, a menos que algo ou alguém esteja lá para fazer o trabalho. Fizemo-lo, desta feita, mas fomos os primeiros seres humanos que já adentraram a constelação. De modo que, antes disso, foram seres não-humanos que o fizeram; talvez os mesmos seres que inicialmente transplantaram as flores. Isto quer dizer que deve haver seres inteligentes em algum ponto daquela constelação, bastante inteligentes para efetuarem viagens espaciais, e a Terra precisa saber disso.
Chouns abanou a cabeça lentamente.
Smith fechou a cara:
— Vê alguma falha no raciocínio?
Chouns apoiou a cabeça nas palmas das mãos e pareceu aniquilado:
— Vamos dizer que você não percebeu quase nada.
— O que é que não percebi? — interpelou-o Smith enfurecido.
— A sua teoria da fertilização cruzada é boa até um certo ponto, mas deixou de levar em consideração alguns pontos. Quando nos avizinhamos daquele sistema estelar, o nosso motor hiperatômico enguiçou, de maneira tal que os controles automáticos não conseguiram diagnosticar o defeito, nem corrigi-lo. Depois de termos descido no planeta não empreendemos nenhum esforço no sentido de consertá-lo. Com efeito, nos esquecemos completamente do assunto. No entanto, quando você foi lidar com eles, mais tarde, encontrou-os em perfeita ordem, e achou tão natural que nem sequer mencionou o fato, durante algumas horas.
— Considere mais uma coisa: escolhemos convenientemente os pontos de aterragem, perto de um agrupamento de vida animal em ambos os planetas. Pura sorte? E a nossa incrível confiança na boa vontade das criaturas? Nem mesmo nos demos ao trabalho de procurar na atmosfera traços de veneno antes de nos expormos.
— O que me aborrece, acima de tudo, é a maneira como fiquei completamente louco por aqueles visores Gamow. Por quê? São valiosos sim, mas nem tanto... e eu não salto ao mar por causa de um pouco de dinheiro fácil.
Smith manteve um incômodo silêncio durante toda a explicação. Então disse:
— Não vejo como tudo isso nos pode ajudar a tirar alguma conclusão.
— Deixe disso, Smith, você não é nenhum imbecil. Não está claro que estivemos sob controle mental?
A boca de Smith retorceu-se, desenhando o que pareceu ao mesmo tempo zombaria e dúvida.
— Está outra vez com aquela história de “psiônica”?
— Exatamente, fatos são fatos. Disse-lhe que meus palpites poderiam ser uma modalidade de telepatia.
— Isto também é um fato? Não pensava assim dois dias atrás.
— É o meu pensamento agora. Escute, sou melhor receptor do que você e fui fortemente afetado. Agora, que tudo terminou, compreendo melhor o que aconteceu, porque captei mais. Compreende?
— Não! — respondeu Smith rispidamente.
— Então, ouça um pouco mais. Você mesmo afirmou que os visores Gamow foram o néctar que nos levou a aceitar o suborno para a polinização. Foi o que você disse.
— Correto.
— Bem, de onde vieram eles? Eram produtos da Terra. Chegamos a ler o nome do fabricante bem como o modelo, letra por letra. Contudo, se seres humanos nunca pisaram naquele cúmulo, de onde vieram os visores? Na ocasião, nenhum de nós deu atenção ao fato e você não me parece muito preocupado com isso agora.
— Bem...
— O que você fez com os visores depois de termos retornado à espaçonave, Smith? Você os pegou, lembro disso.
— Guardei-os no cofre — disse Smith defensivamente.
— Tocou neles desde então?
— Não.
— E eu?
— Não que eu saiba.
— Tem minha palavra que não pus as mãos neles. Então, por que não abrimos o cofre agora?
Smith caminhou lentamente até o cofre. Como estava programado para as suas impressões digitais, o cofre abriu-se. Sem olhar, enfiou a mão no mesmo. Sua fisionomia alterou-se, quando emitiu um grito ao olhar o conteúdo do cofre. Em seguida, puxou tudo para fora.
Segurou quatro rochas de cores variadas, cada uma delas de irregular contorno retangular.
— Utilizaram-se de nossas emoções para controlar-nos — disse Chouns serenamente, como se quisesse enfiar na cabeça teimosa do outro uma palavra de cada vez. — Fizeram-nos crer que havia algo errado com os motores hiperatômicos, de forma que aterrássemos num dos planetas. Suponho que não importava qual deles. Levaram-nos a crer que tínhamos em mãos instrumentos de precisão, depois de termos descido num dos planetas, de forma que nos apressaríamos a partir para o outro.
— Quem são “eles”? — os rabudos, as serpentes, ou ambos?
— Nenhum deles — disse Chouns. — Foram as plantas.
— As plantas? As flores?
— Decerto. Vimos duas espécies de animais cuidando das mesmas plantas. Sendo nós mesmos animais, concluímos que os senhores da terra seriam os animais. Mas, por que chegar a esta conclusão? Eram as plantas que estavam sendo tratadas.
— Nós também cultivamos plantas na Terra, Chouns.
— Mas comemos as mesmas plantas — tornou Chouns.
— Pode ser que aqueles seres também comam suas plantas.
— Digamos que sei que não comem — disse Chouns. — Eles manobraram muito bem conosco. Lembre-se do meu extremo cuidado em encontrar uma clareira para descer.
— Eu não senti tal impulso.
— Você não estava sob controle. Eles não estavam preocupados com você. Lembre-se também que em momento algum notamos o pólen, muito embora estivéssemos cobertos dele — pelo menos até estarmos em segurança no segundo planeta. Em seguida, segundo ordens, sacudimos o pólen de nossas roupas.
— Nunca ouvi coisa tão impossível.
— E por que é impossível? Não associamos a inteligência às plantas porque plantas não possuem sistemas nervosos, mas estas poderiam ter. Lembra-se dos botões carnudos nos caules? Por outro lado, as plantas não podem mover-se livremente; mas não precisam se deslocar de um lugar para outro. quando desenvolvem poderes “psiônicos” e podem utilizar-se de animais que se movem livremente. Podiam ser cultivadas, fertilizadas, irrigadas, polinizadas, e assim por diante. Os animais tratam-nas com honestidade e devoção e sentem-se felizes por isso porque as plantas os tornam felizes...
— Tenho dó de você — disse Smith monotonamente. — Se tentar contar esta história na Terra, só posso compadecer-me de você.
— Não nutro ilusões — resmungou Chouns — contudo, o que mais poderia eu fazer, senão tentar prevenir a Terra? Você viu o que elas fazem aos animais.
— Transformam-nos em escravos, segundo você.
— Muito pior. Ou as criaturas rabudas ou as criaturas serpentiformes, ou mesmo ambas as raças, devem ter chegado a um tal ponto de civilização que foram capazes de realizar, algum dia, viagens espaciais, do contrário, as plantas não poderiam estar nos dois planetas. Mas, a partir do momento em que as plantas desenvolveram poderes “psiônicos” (uma variedade de planta resultante de mutações, quem sabe), chegaram ao fim. Animais na era atômica são perigosos. De forma que foram esquecidos; reduziram-nos ao que são atualmente. — Bolas, Smith, aquelas plantas são a coisa mais perigosa do Universo. A Terra precisa ser informada a respeito delas, mesmo por que outros terrestres poderiam entrar naquele cúmulo.
Smith deu uma gargalhada:
— Sabe duma coisa, você está inteiramente enganado. Se as plantas nos tivessem realmente sob controle, por que deixariam que fugíssemos para advertir os outros?
Chouns fez uma pausa:
— Não sei.
O bom humor de Smith retornou. Disse:
— Por um minuto, deixou-me preocupado, não me importa que saiba disso.
Chouns coçou a cabeça violentamente. Por que haviam de deixar-nos partir? E, por falar nisso, por que sentia o horrível impulso de advertir a Terra a respeito de um assunto com o qual os terrestres não se confrontariam pelo menos em um espaço de um milhar de anos?
Pôs-se a meditar desesperadamente e então uma ideia começou a luzir tenuamente em sua mente. Tentou apegar-se a ela mas as ideias afastavam-se flutuantes. Por um momento achou que era como se os pensamentos fossem impelidos para longe dele, mas então essa sensação também o abandonou.
Compreendeu tão-somente que a espaçonave devia seguir a toda velocidade, que tinham que se apressar.
E, assim, depois de longos anos, as condições apropriadas surgiram novamente. Os esporos das duas linhagens planetárias da planta-mãe encontraram-se num acasalamento, penetrando nas roupas, cabelos e espaçonaves dos novos animais. Quase imediatamente, formaram-se os esporos híbridos; os mesmos que sozinhos possuíam toda a capacidade e potencialidade para ajustarem-se a um novo planeta.
Os esporos esperavam tranquilamente, agora, na espaçonave, que, com o último impulso da planta-mãe sobre as mentes das criaturas a bordo, os levava a toda velocidade em direção a um mundo novo e fértil onde criaturas capazes de se deslocar de um ponto para outro cuidariam de suas necessidades.
Os esporos aguardavam com a paciência da planta (a paciência capaz de vencer todos os obstáculos que o homem jamais conhecerá) para entrar num mundo novo cada um à sua maneira (minúscula) um explorador..
Os contos deste livro, não têm sido incluídos frequentemente em antologias. Por isso mesmo eu os selecionei, e foi neste aspecto que a Doubleday insistiu comigo. “Explorador, Cada Um...”, no entanto, já fora incluído em antologias duas vezes, uma vez por Judith Merril, em 1957, e outra por Vic Ghidalia, em 1973.
No entanto, não é muito. Algumas das minhas histórias tendem a ser publicadas muitas vezes. Uma pequena história que escrevi, chamada “O Divertimento que Tiveram” (“The Fun they Had”) já apareceu até esta data pelo menos umas quarenta e duas vezes desde que foi publicada pela primeira vez, em 1951, e atualmente está no prelo para mais oito publicações. Pode ter aparecido em outros locais, mas possuo apenas quarenta e dois espaços em minha biblioteca.
Se desejarem, podem encontrar a história em meu livro A Terra tem Espaço. É um dos quarenta e dois lugares.
Os editores estão sempre inventando truques. Às vezes, eu sou a vítima.
Em 14 de novembro de 1956, estava no escritório da Infinity Science Fiction batendo papo com o editor, Larry Shaw. Ele e eu sempre nos entendemos, e eu sempre aparecia para vê-lo quando visitava Nova Iorque.
Naquele dia ele teve uma ideia. Dar-me-ia o título para uma história — o título menos inspirativo que conseguisse imaginar — e eu devia escrever, na mesma hora, no local, uma curta história baseada no título. Em seguida, daria o título para outros dois escritores para que fizessem o mesmo.
Perguntei-lhe, com a devida cautela, qual era o título, e ele respondeu: “Vazio”.
— “Vazio”? — perguntei.
— “Vazio” — respondeu ele.
Em seguida, escrevi a história que segue, como título Vazio! (com um ponto de exclamação).
Randall Garrett compôs uma história intitulada “Vazio?” com um ponto de interrogação e Harlan Ellison redigiu uma ‘Vazio” sem qualquer pontuação.
Vazio!
— Presumivelmente — disse August Pointdexter — existe essa coisa denominada orgulho jactancioso. Os gregos o denominavam hubris e o consideravam o desafio dos deuses, a ser sempre acompanhado de ate ou retribuição — e esfregou inquietamente os olhos azuis.
— Muito bem — disse impacientemente o dr. Edward Barron. — E isso tem alguma conexão com aquilo que eu disse? — sua testa era alta, com vincos horizontais que se aprofundaram marcadamente quando ergueu as sobrancelhas com desdém.
— Toda conexão — disse Pointdexter — construir uma máquina do tempo é já de si um desafio ao destino. As coisas pioram por força de sua total confiança. Como pode ter certeza de que a sua máquina de viajar pelo tempo funcionará o tempo todo sem a possibilidade de um paradoxo?
Barron retrucou:
— Não sabia que era supersticioso. O fato muito simples é que uma máquina do tempo é unia máquina como qualquer outra, nem mais nem menos sacrílega. Matematicamente, é análoga a um elevador descendo e subindo pelo cabo. Que risco de retaliação existe nisso?
Pointdexter replicou energicamente:
— Um elevador não envolve paradoxos. Você pode deslocar-se do quarto para o quinto andar sem matar o seu avô, como criança.
O dr. Barron sacudiu a cabeça em angustiosa impaciência: — Estava esperando por essa. Exatamente por essa. Porque não sugerir que eu me encontraria comigo mesmo ou mudaria o curso da História dizendo a McClellan que Stonewall Jackson pretendia atacar Washington pelos flancos ou qualquer outra coisa? Agora, vou fazer-lhe uma pergunta peremptória. Quer entrar na máquina comigo?
Pointdexter titubeou:
— Bem... acho que não.
— Por que dificulta as coisas? Já lhe expliquei que o tempo é invariável. Se vou ao passado será porque já estive lá. Qualquer coisa que me decidisse fazer ou me propusesse a realizar, terei efetuado no passado o tempo todo, de forma que não modificarei coisa alguma e não resultará em nenhum paradoxo. Se eu resolvesse matar meu avô, quando ele era criança, e o fizesse, eu não estaria aqui. No entanto, estou aqui. Portanto, não matei meu avô. A despeito de quanto eu possa tentar matá-lo ou planeje liquidá-lo, o fato é que não o matei e não o matarei efetivamente. Nada é capaz de mudar isso. Compreende o que estou explicando?
— Entendo o que diz, mas será que você está certo?
— Decerto que estou. Santo Deus, você bem que poderia ser um matemático, ao invés de um engenheiro-mecânico com instrução universitária.
Mercê da impaciência, Barron mal conseguia disfarçar o seu desdém.
— Escute, a máquina é uma possibilidade somente porque certos relacionamentos entre o espaço e o tempo têm validade. Compreende isto, não é, ainda que não apreenda as sutilezas da matemática. A máquina existe, portanto as relações matemáticas que engendrei têm alguma correspondência com a realidade. Você viu que eu enviei coelhinhos durante uma semana ao futuro. Você os viu aparecerem saídos do nada. Você me viu enviar um coelho durante uma semana para o passado e uma semana depois ele apareceu. E todos estavam ilesos.
— Certo, admito tudo isso.
— Então acreditará em mim, se lhe disser que as equações sobre as quais se fundamenta a máquina indicam que o tempo é composto de partículas que existem em ordem inalterável; que o tempo não varia. Se a ordem das partículas pudesse ser modificada num certo sentido — em qualquer rumo que fosse — as equações não teriam valor e a máquina não funcionaria, o método de viagem no tempo em questão seria impossível.
Pointdexter coçou novamente os olhos e pôs-se meditativo.
— Gostaria de saber Matemática.
Barron insistiu:
— Basta encarar os fatos: você tentou enviar o coelho por duas semanas no passado, quando tinha chegado há apenas uma semana do passado. O que teria gerado um paradoxo, não? Mas o que aconteceu? O indicador imobilizou-se durante uma semana e recusou-se a mover-se. Você não poderia criar um paradoxo. Concorda?
Pointdexter estremeceu à borda do abismo do assentimento, mas então recuou:
— Não.
Barron prosseguiu:
— Não pediria que me ajudasse se eu pudesse fazer isso sozinho, mas você sabe que são necessários dois homens para operar a máquina por períodos de mais de um mês. Preciso de alguém para controlar os “Padrões” para que possamos retomar com precisão. E é você que quero empregar. Dividamos a glória desta coisa. Quer diminuí-la, ainda mais, permitindo a intromissão de um terceiro? Há muito tempo para isso, depois que nos estabelecermos como os primeiros viajantes dentro do tempo, na História. Pôr Deus, homem, não consegue ver onde estaremos a uma centena, a um milhar de anos deste dia? Não deseja ver Napoleão, ou Cristo, neste caso? Se remos como... como... Barron parecia extasiado — como deuses.
— Exatamente — rezingou Pointdexter. “Hubris”. — Viajar no tempo não é tão divino para arriscar-nos a extraviar-nos do nosso próprio tempo.
— “Hubris”. Extraviado. Você insiste em criar temores. Estaremos apenas nos movimentando ao longo de partículas de tempo como um elevador que passa pelos andares de um prédio. Em verdade, a viagem pelo tempo é mais segura, porque o cabo de um elevador pode partir, ao passo que na máquina do tempo não haverá gravidade para puxar-nos destrutivamente para baixo. Nada de errado pode possivelmente acontecer. Garanto — disse Barrou batendo no peito com o dedo médio da mão direita. — Eu garanto.
— “Hubris” — gaguejou Pointdexter, mas deixou-se cair no abismo do assentimento, dominado, por fim.
Juntos, entraram na máquina.
Pointdexter não entendia dos controles à moda de Barron, porquanto não era matemático, mas sabia como deviam ser manipulados.
Barron ficou num conjunto, as Propulsões. Alimentaram o motor que forçava a máquina ao longo do eixo do tempo. Pointdexter cuidou dos Padrões, que mantinham fixos os pontos de origem, de modo que a máquina podia retomar ao ponto inicial a qualquer momento.
Os dentes de Pointdexter tremeram quando seu estômago sentiu os primeiros movimentos da máquina. Era como o movimento de um elevador mas nem tanto. Tratava-se de algo mais sutil, ainda que muito real. Perguntou:
— E se...?
Barron bradou:
— Nada pode sair errado, por favor!...
Houve em seguida um ruído estridente e Pointdexter colidiu violentamente com a parede.
Barron exclamou:
— Diabos!
— O que foi? — perguntou Pointdexter, sem fôlego.
— Não sei, mas não importa. Estamos apenas vinte e quatro horas dentro do futuro. Vamos sair e verificar.
A porta da máquina recuou no recesso do painel e a respiração de Pointdexter saiu como um jato. Disse:
— Não há nada aqui.
Nada. Nenhuma matéria. Nenhuma luz! Tudo vazio!
Pointdexter gritou:
— A Terra moveu-se. Esquecemo-nos disso. Em vinte e quatro horas a Terra deslocou-se milhares de quilômetros no espaço, viajando em redor do Sol.
— Não — disse Barron tibiamente. — Não me esqueci disso. A máquina está planejada para acompanhar o ritmo de deslocamento da Terra, para onde quer que seja. Ademais, mesmo que a Terra se movesse, onde estão o Sol e as estrelas?
Barron voltou aos controles. Nada havia mudado. Nada funcionara. A porta recusava-se a fechar. Tudo vazio!
Pointdexter estava encontrando dificuldades para respirar. Falou penosamente:
— As partículas de tempo. Acho que por acaso ficamos retidos... entre duas partículas.
Pointdexter tentou fechar um punho, mas não conseguiu.
— Como num elevador... como num elevador. — Não mais conseguiu dar voz às palavras, somente seus lábios se mexiam. Disse com tremendo esforço: — Como um elevador, afinal... preso entre andares.
Pointdexter nem mesmo conseguiu abrir e fechar os lábios. Pensou: nada tem seguimento na ausência do tempo. Todo movimento está suspenso, toda consciência, todas as coisas. Houve uma inércia em torno deles que os havia carregado ao longo do tempo durante aproximadamente um minuto, como um corpo que se dobra para a frente quando um carro para subitamente.. mas a inércia estava desaparecendo rapidamente.
A luz da máquina enfraqueceu e apagou. A sensação e a consciência transformaram-se em nada.
Um último pensamento, um derradeiro e débil suspiro mental: Hubris, ate!
Então, o pensamento também cessou.
Êxtase! Nada! Por toda a eternidade, onde até mesmo a eternidade não continha significado, haveria somente um vazio total!
Todos os três “Vazio” foram publicados em junho de 1957, no número de Infinity e a ideia do truque, suponho, era permitir que os leitores os confrontassem e notar como três diferentes imaginações reagiriam a um título único, não descritivo.
Talvez vocês desejassem ter as três histórias aqui, de forma a fazer o confronto por si mesmos. Bem, não podem.
Em primeiro lugar, porque eu teria que obter autorização de Randall e Harlan e não desejo passar por isso. Em segundo lugar, vocês subestimam minha natureza autocentralizada. Não gostaria que as histórias deles aparecessem ao lado das minhas!
Devo explicar em seguida que costumo desmontar as revistas que contêm minhas histórias, simplesmente porque não consigo deixar intactas revistas que trazem minhas histórias. Há muitas revistas e não há espaço suficiente. Retiro as histórias em questão e reúno-as em volumes encadernados para futuras referências (como na preparação deste livro). Em verdade, estou carecendo de espaço para os volumes.
— Enfim, quando chegou a vez de desmontar o número de junho de Infinity, separei apenas “Vazio!” e descartei-me de “Vazio?” e “Vazio”. Ou, quem sabe, vocês não subestimam minha natureza autocentralizada e esperam que naturalmente, faça esta espécie de coisa
Nos idos de meados de 1950, quando as revistas de ficção científica menos prósperas (não que qualquer uma delas fosse realmente próspera) pediam uma história, era minha praxe pedir o mesmo preço que Galaxy e Astounding pagavam quando esperavam que se escrevesse uma história para eles. Faziam-no, bastante confiantes de que se eu afirmasse que uma história tinha sido composta especialmente para eles, tinha-o sido mesmo, e não fora tirada sorrateiramente do fundo de um barril. (Há ocasiões em que a reputação de ser tolo demais para ser desonesto vem a calhar.)
Como corolário, naturalmente, se uma das minhas histórias chega a ser recusada pelo editor “A”, vejo-me na obrigação de dizê-lo ao editor “B” quando eu a ofereço novamente. Em primeiro lugar, a recusa de uma história com o meu nome deve dar ocasião a pensamentos tais como “Excelente!”, A história deve ser extraordinária! — e é muito justo que se dê ao editor “B” uma oportunidade de concordar. Em segundo lugar, mesmo que o segundo editor aceite minha história, não está obrigado a pagar-me mais do que o seu preço habitual. Isto significava um prejuízo ocasional de alguns dólares, mas deixava-me em paz com a minha mirrada alminha.
Muito bem. “Uma Abelha se Importa?” (“Does a Bee Care”?) foi escrita em outubro de 1956, depois de debatê-la com Robert P. Mills, de Fantasy and Science Fiction, depois de ele ter assumido o cargo de editor de uma revista coirmã de F & SF, que devia chamar-se Venture Science Fiction.
Calculo que a execução ficou aquém da promessa, porque Mills recusou-a e ela foi considerada indigna tanto de Venture como de F&SF.
Em vista disso, passei-a adiante, para If. Worlds of Science Fiction com o relato da recusa e consegui menos que o preço normal. Publicaram-na no número de junho de 1957.
Agora, o que é aborrecido nisto tudo é que eu nunca posso imaginar o que há numa história que possa estabelecer uma diferença entre a aceitação e a recusa, ou qual editor, o que a rejeita ou o que a aceita, está certo. Por essa razão, não sou editor e não tenho a intenção de sê-lo um dia.
Pois bem, façam vocês mesmos o julgamento.
Uma abelha se importa?
A espaçonave começou como um esqueleto metálico. Aos poucos, uma pele reluzente foi colocada do lado de fora e partes vitais foram amontoadas dentro.
Thornton Hammer, de todos os indivíduos (com exceção de um) envolvidos no empreendimento, fazia o menor esforço físico. Talvez fosse por isso que era o mais considerado. Lidava com os símbolos matemáticos que serviam de base para as linhas no papel do esboço, que por seu turno serviam de base para a montagem de várias massas e diferentes formas de energia que entravam na espaçonave.
Naquele momento, Hammer observava sombriamente através dos óculos bem ajustados no rosto. As lentes captavam a luz dos tubos fluorescentes colocados no alto, projetando-a novamente, como faróis. Theodore Lengyel, representando o Departamento do Pessoal da corporação que estava orçamentando o projeto, pôs-se ao lado dele e disse, apontando um dedo duro e pontiagudo:
— Lá está. Aquele é o homem.
Hammer espiou:
— Refere-se a Kane?
— O sujeito de macacão verde, com chave inglesa na mão.
— É Kane. Diga-me, agora, o que tem contra ele?
— Quero saber o que faz. O homem é um idiota — Lengyel tinha rosto gordo e redondo, e as mandíbulas tremeram um pouco.
Hammer voltou-se para olhar o outro. Cada milímetro do corpo magro tomou um quê de desagrado.
— Tem estado importunando-o?
— Importunando? Andei falando com ele. É minha atribuição conversar com os homens, conseguir seus pontos de vista, informações através das quais possa iniciar campanhas para elevar o moral.
— Em que sentido Kane atrapalha?
— É insolente. Perguntei-me que lhe parece trabalhar numa espaçonave que pudesse chegar à lua. Falei um pouco de como a espaçonave poderia ser uma estrada para as estrelas. Fiz um pequeno discurso sobre o assunto e talvez tenha exagerado um pouco, e ele deu as costas da mancha mais grosseira possível. Chamei-o de volta e perguntei:
— Aonde vai? — e ele respondeu: “Estou enjoado deste tipo de conversa. Vou sair para olhar as estrelas”.
Hammer balançou a cabeça, confirmando:
— Kane gosta de olhar as estrelas.
— Era pleno dia. O homem é um idiota. Deste então continuo a vigiá-lo e ele não faz nenhuma espécie de trabalho.
— Estou a par disso.
— Mas então por que ele continua no emprego?
Hammer disse com súbita e inusitada ferocidade:
— Porque eu o quero por perto. Por que ele é a minha sorte.
— Sua sorte? — tartamudeou Lengyel. — Que diabo significa isso?
— Significa que, quando ele está perto, sinto-me melhor. Quando passa por mim, segurando aquela sua maldita chave inglesa, tenho ideias. Já aconteceu três vezes. Não tenho explicação, nem estou interessado em explicar coisa alguma. Aconteceu. Ele fica.
— Está brincando.
— Não estou, não. Agora, deixe-me em paz!
Kane estava em pé, de macacão verde, com a chave inglesa na mão.
Conscientizou-se, vagamente, de que a espaçonave estava pronta. Não tinha sido projetada para transportar homens, mas havia espaço para um. Sabia disso, da mesma forma que sabia de uma porção de coisas. Como, por exemplo, sair do caminho das pessoas, a maior parte do tempo; como andar com uma chave inglesa de um lado para o outro, até as pessoas se acostumarem e deixarem de reparar nisso. Na verdade, a coloração protetora consistia em pequenas coisas — como carregar a chave inglesa.
Tinha muitos impulsos que não conseguia compreender inteiramente, tais como contemplar as estrelas. No início, há muitos anos, havia olhado para as estrelas com uma vaga pena. Em seguida, aos poucos, sua atenção centralizou-se numa certa região do céu, e daí para um ponto bem determinado. Não sabia dizer o porquê daquele ponto específico. Não havia estrelas ali, nada para ser visto.
O ponto era bem visível no céu noturno no fim da primavera e nos meses de verão e, às vezes, gastava a maior parte da noite observando aquele local até o seu desaparecimento na parte Sudeste do horizonte. Em outras épocas do ano, observava atentamente o ponto durante o dia.
Havia um pensamento associado com aquele local no firmamento, que ele não conseguia cristalizar inteiramente. O pensamento havia-se tornado mais forte, aflorou um pouco mais à superfície com o passar dos anos, e estava então quase próximo de sua expressão total. Contudo, ainda não se tornara completamente claro.
Kane mexeu-se inquietamente e aproximou-se da espaçonave. Estava quase completa, quase ideal. Todas as coisas se ajustavam perfeitamente. Quase.
Lá dentro, bem na frente, havia um espaço um pouco maior do que um homem; e havia uma passagem um pouco mais larga do que um homem, que levava a esse espaço. No dia seguinte, aquela passagem seria preenchida com as derradeiras partes vitais e, antes que isso fosse feito, também o espaço teria que ser preenchido. Não, todavia, com qualquer coisa que eles tivessem planejado.
Kane aproximou-se ainda mais, sem que ninguém lhe desse atenção. Estavam habituados a ele.
Teria que subir por uma escada e caminhar por um passadiço para entrar na última abertura. Conhecia com exatidão a localização do nicho, como se ele mesmo o tivesse feito com as próprias mãos. Subiu pela escada e caminhou pelo passadiço. Não havia ninguém lá no mo...
Estava equivocado. Um homem.
Perguntou-lhe o homem rispidamente:
— O que está fazendo aqui?
Kane endireitou-se e os olhos vagos fixaram-se em quem lhe fizera a pergunta. Ergueu a chave e desceu-a levemente na cabeça do interlocutor. O homem foi atingido (e não esboçou nenhuma defesa) e caiu, em parte, devido ao resultado da pancada.
Kane deixou-o estendido lá, sem se preocupar. O homem não ficaria desacordado por muito tempo, mas o tempo suficiente para Kane entrar, retorcendo-se no nicho. Quando o homem recobrasse os sentidos, não se lembraria de nada a respeito de Kane ou de sua própria inconsciência. Seriam simplesmente cinco minutos retirados de sua existência, os quais jamais recobraria, mas também dos quais não sentiria falta.
O nicho estava escuro e, obviamente, não havia ventilação, mas Kane não ligou para isso. Com a infalibilidade do instinto, subiu até o nicho que o receberia. Em seguida, deitou-se, ofegante, aconchegando-se bem à cavidade, como que num útero.
Dentro de duas horas, começariam a inserir o restante das peças vitais, fechariam a passagem e despercebidamente deixariam Kane ali. Kane seria a única peça de carne e osso, num troço de metal, cerâmica e combustível.
Kane não receava ser descoberto antes da hora. Ninguém do projeto, tinha conhecimento de que ali existia um nicho. O desenho não o exigia. Os homens engajados na mecânica e na construção da espaçonave não tinham consciência de tê-lo incluído.
Kane havia-o providenciado completamente sozinho.
Não sabia de que maneira, mas compreendia que o conseguira.
Podia perceber sua própria influência sem saber como era exercida. Vejam, aquele homem, Hammer, por exemplo, o líder do projeto e o mais notadamente influenciado. De todas as figuras indistintas que rodeavam Kane, era ele o menos indistinto. Kane costumava sentir fortemente sua presença, às vezes, quando passava por ele em suas lentas e obscuras viagens pelas cercanias. Era o que bastava — passar perto dele.
Kane recordava-se de ter sido assim, antes, especialmente com os teóricos. Quando Lise Meitner resolveu fazer testes para detectar bário entre os produtos do bombardeio de nêutrons com urânio, Kane havia estado lá, como um trabalhador despercebido no corredor mais próximo.
Estivera apanhando folhas e lixo num parque, em 1904, quando o jovem Einstein passara meditando. Einstein apressara os passos, sob o impacto de súbito pensamento. Kane sentira-o como um choque elétrico.
No entanto, não sabia como fora feito. Uma aranha sabe alguma coisa de arquitetura estrutural quando inicia a construção de sua primeira teia
Recuou mais no passado. O dia em que o jovem Newton arregalara os olhos para a lua, no alvorecer de uma certa ideia, Kane havia estado lá. E mais para trás ainda...
O panorama do Novo México, normalmente deserto, estava atulhado de formigas humanas, movendo-se. lentamente em torno do tubo de metal apontado como lança para cima. Essa era diferente de todas as estruturas similares que a precederam.
Essa se desprenderia da Terra muito mais adequadamente do que qualquer outra. Alcançaria o espaço e rodearia a lua antes de cair novamente. Estaria abarrotada de instrumentos que fotografariam a lua e mediriam as emissões de calor, fariam sondagens da radioatividade e efetuariam testes através de micro-ondas para verificar a sua estrutura química. Faria, por automação, quase tudo o que se esperaria de um veículo controlado por homens. Recolheria informações suficientes para assegurar que a próxima espaçonave enviada seria manipulada por homens.
Exceto que, num certo sentido, aquela primeira espaçonave, afinal de contas, era controlada por homens.
Havia representantes de vários governos, de várias indústrias, de vários grupos sociais e econômicos. Havia câmaras de televisão e jornalistas de gabarito.
Os que não podiam estar presentes assistiam de suas casas e ouviam a contagem decrescente em penosa monotonia, de um modo que se tornou uma tradição numa questão de três décadas.
Quando a contagem decrescente chegou a zero, os motores de reação ganharam vida e a espaçonave elevou-se pesadamente.
Kane ouviu o ruído dos gases precipitados, como que de grande distância, e sentiu a pressão da enorme aceleração.
Deixou que o espírito vagasse e se elevasse, libertando-o de uma conexão direta com o corpo, para que este não tomasse consciência da dor e do desconforto.
Meio zonzo, deu-se conta de que a longa viagem estava quase finda. Não teria mais que manobrar cuidadosamente a fim de evitar que as pessoas percebessem que ele era imortal. Não teria mais que desaparecer no passado, vagar eternamente de lugar para lugar, mudando de nome e de personalidade, manipulando mentes.
É claro que não havia sido perfeito. O mito do Judeu Errante e do Holandês Voador havia surgido, mas ele ainda estava lá. Não havia sido molestado.
Enxergou seu ponto no céu. Através da massa e da solidez da espaçonave, podia vê-lo. Ou não “ver”, exatamente. Não tinha a palavra apropriada.
Sabia, todavia, que havia uma palavra apropriada. Não podia explicar como conhecia uma fração das coisas que compreendia, exceto que, com o decorrer dos séculos, chegara a compreendê-las com uma certeza que não exigia o uso da razão.
Tinha começado como um ovo (ou algo que, no seu modo de entender, se aproximava mais da palavra “ovo”) depositado na Terra antes de terem sido construídas as primeiras cidades pelas criaturas errantes desde então chamadas “homens”. A Terra havia sido cuidadosamente escolhida pelo seu progenitor. Nenhum outro mundo serviria.
Qual outro mundo serviria? Qual o critério? Era algo que ele ainda não sabia.
A abelha do gênero iceumon estuda ornitologia antes de encontrar a espécie de aranha que servirá para seus ovos, aferroando-a para que possa conservar-se viva?
Depois de algum tempo o ovo eclodiu e ele tomou a forma humana e viveu entre homens e protegeu-se contra eles. O seu único propósito era levar os homens a trilhar um caminho que terminasse numa espaçonave, dentro dela uma cavidade e, dentro desta, ele em pessoa.
Foram necessários oito mil anos de esforços constantes e tropeços
O ponto no céu tornava-se mais visível à medida que a espaçonave saía da atmosfera. Foi a chave que lhe abriu o espírito. Era a peça que montava o enigma.
As estrelas piscavam no interior daquele ponto no céu, que não podia ser visto a olho nu pelos homens. Uma delas possuía um brilho muito especial e Kane sentia-se atraído por ela. A palavra que há tanto tempo estivera acumulada dentro dele, irrompeu finalmente.
— Lar! — sussurrou.
Ele sabia? Um salmão estuda cartografia para descobrir a nascente de um rio onde nasceu alguns anos antes?
O último passo foi então dado no lento processo de maturação que havia exigido oito mil anos e Kane não era mais uma larva, mas um adulto.
O Kane adulto desvencilhou-se da carne humana que havia protegido a larva e abandonou a espaçonave. Correu para fora, numa velocidade inacreditável. Para casa, de onde, um dia, saíra para errar pelo espaço e fertilizar algum planeta com seu ovo.
Cruzou aceleradamente o espaço, sem dedicar um único pensamento à espaçonave que transportava uma crisálida vazia. Não devotou sequer um pensamento ao fato de que havia levado um mundo inteiro à tecnologia e à viagem espacial a fim de que aquela coisa que havia sido Kane pudesse amadurecer e chegar à realização.
Uma abelha se importa com o que acontece a uma flor quando já fez o que tinha a fazer e seguiu seu caminho?
O exame de “Uma Abelha se Importa?” leva-me a pensar nos muitos editores com que tenho lidado e como acabam no esquecimento.
Tem havido editores que, por um espaço de tempo, eu via frequentemente, e dos quais me sentia muito íntimo. Então, por uma ou outra razão, deixaram seus cargos e desapareceram de meu horizonte. Por exemplo, há anos que não vejo Horace Gold — também não me tenho avistado com James L. Quinn, que comprou “Uma Abelha se Importa?” e outras poucas histórias de minha autoria.
Ele tinha um sotaque sulista, lembro-me, e era uma pessoa encantadora — presentemente não sei onde se encontra, nem se ainda está vivo.
A próxima história, “Pobres Imbecis” (“Silly Asses”), é uma sobre a qual acho melhor falar pouco, ou o comentário será mais extenso do que a própria história. Escrevi-a em 29 de julho de 1957. Foi recusada por duas revistas, antes que Bob Lowndes gentilmente abrisse espaço para a mesma. Saiu no número de 1958 de Future.
Pobres imbecis
Naron, da longeva raça rigelliana, era o quarto de sua linhagem que garantia os recordes galáticos.
Segurava o grande livro que continha a lista das numerosas corridas através das galáxias, as quais haviam desenvolvido a inteligência e o livro, muito menor, que arrolava as taças que haviam atingido a maturidade e se classificado para a Federação Galáctica. No primeiro livro, muitos dos que estavam na lista foram excluídos; os que, por uma razão ou outra, haviam falhado, Desgraças, deficiências biofísicas ou bioquímicas, desajustamentos sociais que deram cabo deles. No livro menor, contudo, nenhum dos membros incluídos havia sido riscado.
Então Naron, corpulento e incrivelmente velho, ergueu os olhos quando um mensageiro se aproximou:
— Naron — disse o mensageiro — O Grande!
— Bem, bem, de que se trata? Menos cerimônias.
— Outro grupo de organismos chegou à maturidade,
— Excelente, excelente. Agora, estão aparecendo rapidamente. Mal passa um ano, sem que apareça um. E quem são?
O mensageiro deu o número de código da galáxia e as coordenadas do mundo que ela comportava.
— Ah, sim — disse Naron, — Conheço este mundo — e em escrita fluente, anotou-o no primeiro livro e transferiu seu nome para o segundo, usando, como de hábito, o nome pelo qual o planeta era conhecido pela maior parte de sua população. Escreveu: Terra.
Disse:
— Estas novas criaturas estabeleceram um recorde. Nenhum outro grupo tem passado da inteligência para a maturidade tão rapidamente. Espero que não haja erro,
— Não, senhor — disse o mensageiro.
— Conseguiram a energia termonuclear, não é?
— Sim, senhor.
— Bem, este é o critério — Naron deu uma risadinha. — Em breve as espaçonaves deles sairão para sondagens e entrarão em contato com a Federação,
— Em verdade, Grande — disse o mensageiro com relutância — os Observadores dizem-nos que ainda não penetraram no espaço.
Naron pareceu perplexo:
— Nada? Nem mesmo uma estação espacial?
— Ainda não, senhor.
— Mas se possuem energia termonuclear, onde realizam seus testes e detonações?
— No próprio planeta deles, senhor.
Naron ergueu-se em toda a sua estatura de seis metros e sessenta centímetros e trovejou:
— No seu próprio planeta?
— Exatamente, senhor.
Naron puxou lentamente da pena e traçou uma linha sobre toda a extensão da mais recente adição inserida no livro menor. Era um ato sem precedentes, mas, pudera, Naron era muito prudente e podia perceber o inevitável tão bem como qualquer outro na galáxia.
— ‘Pobres imbecis!” — murmurou.
Receio que seja outra história com uma conclusão moral. Mas, vejam vocês; o perigo nuclear havia aumentado quando tanto os Estados Unidos da América do Norte quanto a União Soviética desenvolveram a bomba de hidrogênio, e eu sentia-me novamente amargurado.
Em fins de 1957 vi-me novamente confrontado com um novo ponto crítico. Ocorreu da seguinte forma:
Quando Walker, Boyd e eu escrevemos nosso compêndio, gastamos gratuitamente muitas horas de aulas trabalhando nele (muito embora muito do trabalho fosse feito à noite e nos fins de semana). Tratava-se de diligência escolar e parte de nosso trabalho.
Quando escrevi As Substâncias da Vida (The Chemicals of Life), senti que também este livro era uma tarefa escolar e trabalhei nela sem desfalecimento, durante as horas que deveriam ser dedicadas à escola. Trabalhei também em outros livros durante o período escolar. No final de 1957, havia conseguido escrever, dessa forma, sete livros de não-ficção científica para o público em geral.
Entrementes, James Faulkner, o compreensivo Reitor, e Burnham S. Walker, o simpático chefe do departamento, haviam-se demitido dos respectivos cargos e vieram substitutos que me encaravam sem nenhuma simpatia.
O substituto do Reitor Faulkner não via com aprovação as minhas atividades e, suponho, tinha razão. Na minha ganância de escrever não-ficção, eu havia abandonado completamente a pesquisa e ele achava que era de pesquisa que a reputação da escola dependia. Até certo ponto, isto é verdade, mas nem sempre, o que era o meu caso.
Realizamos uma reunião e apresentei meus pontos de vista de modo franco e sem rebuços, como o meu altruístico pai sempre me ensinara a fazer.
— Senhor — disse eu. — Saliento-me como escritor e a minha obra fará brilhar a escola. Contudo, como pesquisador, sou apenas competente e, se há alguma coisa que a Escola de Medicina da Universidade de Boston não necessita, esta coisa é outro pesquisador apenas competente.
Suponho que deveria ter sido mais diplomático, porquanto minhas palavras encerraram a discussão. Fui excluído da folha de pagamento e o semestre da primavera de 1958 foi o último em que lecionei regularmente, depois de nove anos de atividades.
Isso, no entanto, não me amolou muito. Com respeito ao salário da escola, não me importei nem um pouco — mesmo após dois aumentos, meu salário somava apenas seiscentos e cinquenta dólares anuais e meus escritos rendiam muito mais do que aquela importância.
Tampouco me aborreci com a perda da oportunidade de efetuar pesquisas; eu já as tinha abandonado, de qualquer forma. Quanto ao ensino, meus livros de não-ficção (e mesmo a minha ficção científica) eram expedientes de ensino que me satisfaziam em sua grande variedade, muito mais do que o ensino de uma quantidade limitada de matérias. Não receei nem mesmo a perda de minha participação pessoal em conferências, mesmo porque, a partir de 1950, eu vinha me firmando como conferencista profissional e estava começando a ganhar respeitáveis taxas neste campo.
Havia, no entanto, a intenção do novo reitor de despojar-me de meu título e de chutar-me da escola. Isso eu não permitiria. Sustentei que tinha direito ao meu mandato, porquanto me tornara professor membro do corpo docente em 1955 e não poderia ser demitido do cargo sem justa causa. A luta prosseguiu por dois anos e venci. Conservei o título e ainda o tenho até o presente momento. Continuei professor associado de Bioquímica da Escola de Medicina da Universidade de Boston.
Mais ainda, a Escola sente-se feliz por isso. Meu adversário aposentou-se por fim e em seguida faleceu. (Na verdade, não era um mau sujeito; nós apenas não conseguíamos chegar a um acordo.) Para não deixar má impressão, permitam-me afirmar enfaticamente que, exceto por aquele período em foco, envolvendo apenas uma ou duas pessoas, a Escola, e todos nela, têm-me tratado com perfeita gentileza.
Não leciono, nem estou na folha de pagamento, mas por opção própria. Pediram-me que voltasse, de uma forma ou outra, algumas vezes, mas expliquei por que não posso.
Faço conferências na Escola, sempre que solicitado e, em 19 de maio de 1974, dei a palestra de colação de grau na Escola de Medicina, de modo que tudo está bem como podem ver.
Não obstante, quando descobri que dispunha de tempo, não tendo que cuidar de salas de aulas, ou servir como substituto, sentia que o meu impulso era o de empregar o tempo extra em não-ficção, da qual eu me enamorara completa, desesperada e irremediavelmente.
Lembrem-se, também, que a 4 de outubro de 1957 o Sputnik I havia entrado em órbita e, no empolgamento que se seguiu, tomei- me de grande animação no sentido de escrever ciência para leigos. Mais ainda, os editores estavam ferozmente interessados nisso e nunca na minha vida me senti forçado a cuidar de tantos projetos a ponto de ser difícil ou mesmo impossível encontrar tempo para tratar de importantes projetos de ficção e — pobre de mim — tem sido assim até hoje.
Notem bem. Não abandonei por completo a ficção científica. Ainda nunca houve um ano sem que eu não tivesse escrito alguma coisa, mesmo que fossem duas histórias curtas. Em 14 de janeiro de 1958, estava me preparando para dar início ao último semestre e, antes que o impacto total de minha decisão apresentasse resultados, escrevi a seguinte história para Bob Mills e sua (coitada!) Venture, de tão curta existência. Ela apareceu no número de maio de 1958.
Júpiter à venda
Ele era uma imagem, naturalmente, mas tão inteligentemente planejado que os seres humanos que lidavam com ele haviam desistido há muito de pensar em entidades energéticas reais, esperando no fogo incandescente em uma “espaçonave” em sítio reservado, a milhas da Terra.
A imagem, de majestosa e dourada barba, olhos castanhos profundos e bem separados um do outro, disse calmamente:
— Compreendemos suas hesitações e desconfianças e só podemos continuar assegurando-lhes que não temos a intenção de causar-lhes qualquer mal. Penso que lhes temos fornecido provas de que habitamos os halos das coroas das estrelas de espectro-O; que seu sol é excessivamente frio para nós; que seu planeta é de matéria sólida e, portanto, completa e eternamente alienígena para nós.
O Negociador Terrestre (que, por consenso comum, era o secretário da Ciência, e havia sido encarregado de conduzir as negociações junto aos alienígenas) disse:
— Mas você acaba de confessar que estamos agora numa de suas principais rotas de comércio.
— Sim, agora que o nosso novo mundo de Kimmonoshek acaba de desenvolver novos campos de fluido protônico.
O Secretário disse:
— Bem, aqui na Terra, a posição de rotas comerciais pode ganhar importância militar mercê do seu valor intrínseco. Apenas posso repetir então, que, para ganhar a nossa confiança, precisa contar-nos por que, exatamente, precisa de Júpiter.
Como sempre, quando aquela pergunta, ou uma variante dela era proposta, o simulacro parecia melindrar-se:
— O segredo é importante. Se o povo Lamberj...
— Exatamente — disse o secretário — para nós, isso soa como guerra. Vocês e o que chamam de povo Lamberj...
O simulacro disse aos tropeções:
— Mas estamos lhes oferecendo uma retribuição muito generosa. Vocês têm colonizados apenas os planetas internos do seu sistema e não estamos interessados neles. Desejamos o mundo que vocês denominam Júpiter, no qual, no meu entender, vocês não esperam morar, tampouco aterrar. O tamanho dele (ele gargalhou indulgentemente) é excessivo para vocês.
O secretário, que não gostou do ar de condescendência, disse pedantemente:
— Os satélites de Júpiter, contudo, são sítios práticos de colonização e pretendemos colonizá-los dentro em breve.
— Mas os satélites não serão molestados de modo algum. Pertencem a vocês, em todos os sentidos da palavra. Queremos apenas Júpiter, um mundo completamente inútil para vocês e, quanto a isso, a paga que oferecemos é generosa. Sabem, certamente, que poderíamos apropriar-nos de Júpiter, se quiséssemos, sem a sua permissão. Acontece tão-somente que preferimos efetuar um pagamento e um acordo legal. Isso evitará disputas no futuro. Como vê, estou usando de toda franqueza.
O secretário perguntou obstinadamente:
— Por que precisa de Júpiter?
— Os Lamberj...
— Está em guerra com os Lamberj?
— Não propriamente...
— Porque, veja, se ocorrer uma guerra e vocês estabelecerem algum tipo de base fortificada em Júpiter, os Lamberj podem, com muita razão, ofender-se por isso e desforrar-se em nós, por conceder a permissão. Não podemos nos deixar envolver em tal situação.
— Tampouco eu pediria que se envolvessem. Minha palavra que nenhum mal aconteceria a vocês. Sem dúvida (voltava constantemente ao assunto) a paga é generosa. Caixas de energia todos os anos para suprir seu mundo durante um ano inteiro com as exigências de potência.
O secretário disse:
— Mediante o acordo de que os futuros aumentos do consumo de potência serão supridos?
— Até um total de cinco vezes o total atual. Sim.
— Bem, neste caso, como tenho dito, sou um alto funcionário do governo e foram-me concedidos consideráveis poderes para negociar com vocês — mas não tenho poder infinito. Eu, pessoalmente, inclino-me a confiar em vocês, mas não poderei aceitar seus termos sem compreender, precisamente, por que quer Júpiter. Se a explanação for plausível e convincente, talvez eu possa persuadir o meu governo e, através do meu povo, chegar a um acordo. Se eu tentasse chegar a um acordo sem a devida explicação, seria simplesmente exonerado do cargo e a Terra se recusaria a honrar à acordo. Você poderia, então, apoderar-se à força de Júpiter, mas então estaria praticando uma apropriação indébita e, como você mesmo afirmou, não gostaria disso.
O simulacro estalou a língua, nervosamente:
— Não posso continuar eternamente neste bate-papo improdutivo. Os Lamberj — parou novamente e então disse: — Tenho sua palavra de que tudo isto não passa de um expediente inspirado pelo povo Lamberj para retardar-nos até que...
— Tem minha palavra de honra — disse o Secretário
O Secretário emergiu, limpando a testa, parecendo dez anos mais novo. Disse tranquilamente:
— Assegurei-lhe que poderá tê-lo assim que eu obtenha a aprovação formal do Presidente. Não penso que ele ou o Congresso objetarão. Santo Deus, cavalheiros, pensem nisto: força de graça na ponta dos dedos em troca de um planeta que, de qualquer modo, não teria nenhuma utilidade para a gente.
— O secretário de defesa disse, ficando arroxeado devido à objeção:
— Mas havíamos concordado que somente uma guerra Mizzarett-Lamberj poderia explicar a necessidade deles por Júpiter. Sob estas circunstâncias e comparando o poderio militar deles com o nosso, é essencial uma rigorosa neutralidade.
— Mas não há guerra, senhor — disse o secretário da Ciência. — O simulacro apresentou uma explanação alternativa tão plausível e racional de que eles têm que possuir Júpiter, que eu a aceitei imediatamente. Penso que o presidente concordará comigo e os senhores também, quando compreenderem. Com efeito, tenho aqui o plano deles para um novo Júpiter, como logo se verá.
Os outros levantaram-se das cadeiras, clamando:
— Um novo Júpiter? — exclamou o secretário da Defesa, quase sem fôlego.
— Não muito diferente do antigo, senhores — disse o secretário da Ciência. — Aqui estão os esboços arranjados de forma adequada para serem observados por seres materiais como nós.
Ele baixou os esboços. O conhecido planeta das faixas estava ali diante deles, em um dos esboços: verde, verde pálido e marrom claro, com riscos brancos irregulares aqui e acolá, tudo contra o fundo aveludado e salpicado de astros, no espaço. No entanto, formando um estranho padrão, havia listras negras que cruzavam a faixa.
— Isto — disse o Secretário da Ciência — é o lado diurno do planeta. O lado noturno é mostrado neste esboço. (Ali, Júpiter era uma espécie de estreita meia-lua envolta em trevas e dentro delas havia as mesmas estrias finas, desenhando idêntico padrão, só que com fosforescente luminosidade laranja.)
— As marcas — disse o Secretário da Ciência — são um fenômeno óptico, simplesmente, segundo fui informado, e não acompanham a rotação do planeta, mas permanecem estáticas em sua orla atmosférica.
— Mas o que é isto? — perguntou o Secretário do Comércio.
— Vejam — disse o Secretário da Ciência — o nosso sistema solar está presentemente numa das suas principais rotas comerciais. Cerca de sete das espaçonaves deles passam a poucas centenas de milhões de milhas de distância do sistema num único dia, e cada uma delas mantém os principais planetas sob observação telescópica ao passarem. Curiosidade de turistas, como podem perceber. Planetas sólidos, de quaisquer dimensões, são maravilhas para eles.
— E o que tem isso a ver com as marcas?
— Trata-se de uma forma de escrita usada por eles. Traduzidas, as marcas dizem: “Utilizem os Vértices Ergone Mizzarett na medida do calor equivalente para saúde e aquecimento”
— Você quer dizer que Júpiter deve ser um cartaz de propaganda? — explodiu o Secretário da Defesa.
— Correto. Parece que os Lamberj produzem um tablete competitivo de Ergone, o que explica a ansiedade dos Mizzarett em estabelecer posse legal de Júpiter — no caso de algum processo por parte dos Lamberj. Felizmente, os Mizzarett são novatos no jogo publicitário, segundo parece;
— Por que afirma isso? — perguntou o Secretário do Interior.
— Ora, deixaram de estabelecer uma série de opções com respeito a outros planetas. O cartaz de Júpiter estará fazendo publicidade do nosso sistema bem como de seu próprio produto. E quando os competitivos Lamberj aparecerem tempestivos por causa do direito de propriedade de Mizzarett sobre Júpiter, teremos Saturno para vender para eles. Com os anéis. Estaremos então em condições de explicar-lhes que os anéis de Saturno proporcionarão um espetáculo muito melhor.
— E portanto — disse o Secretário do Tesouro, num súbito e radiante sorriso — por um preço muito melhor.
E subitamente todos se mostraram muito entusiasmados.
“Júpiter à Venda” (“Buy Jupiter”) não era o meu título original para a história. Costumo ficar indignado quando um editor muda o título que dei a uma história, modifica-o novamente quando ele aparece numa de minhas coleções e, em seguida, queixa-se do mesmo no comentário. — Mas não desta vez.
Dei à história o título “Vale a Pena” (“It Pays”), um título sem nenhum realce. Bob Mills, sem sequer consultar-me, tranquilamente mudou para “Júpiter à Venda” e gostei do mesmo tão logo a mudança captou a minha atenção. Para um trocadilhista como eu, é um título perfeito para a história — tão perfeito, que o dei a toda esta coleção, que, como sabem, chama-se Júpiter à Venda.
E Bob Mills fez jus aos elogios.
No transcurso daqueles primeiros anos em que, tomado de uma espécie de genuíno horror, eu estava observando a decadência de meus escritos de ficção científica, eu ocasionalmente entrava num estado de pânico melancólico.
Seria por que eu não poderia mais escrever ficção científica? Suponha que eu quisesse escrever ficção científica, seria eu capaz de fazê-lo?
Em 23 de julho de 1958, ia eu de carro a Marshfield, Massachusetts, a fim de dar início a três dias de férias, de que eu tinha verdadeiro pavor (tenho pavor a todo tipo de férias). Deliberadamente pus-me a idealizar um enredo a fim de manter o espírito afastado das férias — e ver se era capaz de fazê-lo. O resultado foi “Uma Estátua para Papai” (“A Statue for Father”). Vendi-a a uma revista nova, a Satellite Science Fiction, e ela foi publicada no número de fevereiro de 1959.
Uma estátua para papai
É verdade? Realmente? É claro que já ouviu falar nisto. Eu tinha certeza que sim.
Se está realmente interessado na descoberta, acredite em mim, terei enorme prazer em revelá-la. É uma história que sempre gostei de contar, mas são poucas as pessoas que me dão tal oportunidade. Tenho até sido aconselhado a manter a história oculta. Ela interfere nas lendas que se formaram a respeito de meu pai.
Contudo, penso que a verdade é valiosa. Há uma moral nela. Uma pessoa pode passar a vida dedicando suas energias tão-somente à satisfação de sua própria curiosidade e um dia, por puro acidente, sem nunca pretender algo desse tipo, acha-se na situação de benfeitor da humanidade.
Papai era um simples teórico da Física, dedicado à investigação da viagem no tempo. Não creio que algum dia se preocupou com o que a viagem no tempo pudesse significar para o Homo sapiens. Vejam vocês, ele apenas tinha curiosidade pelos relacionamentos matemáticos que governam o Universo.
Ansioso? Tanto melhor. Imagino que levará meia hora. Eles o farão convenientemente para um funcionário como você. É uma questão de orgulho.
Para início de conversa, papai era tão pobre como somente um professor universitário pode sê-lo. Com o passar do tempo, contudo, ficou rico. Nos últimos anos, antes de morrer, estava fabulosamente rico. Agora, quanto a mim, meus filhos e netos — bem, vejam vocês mesmos.
Erigiram-lhe estátuas, também. A mais antiga encontra-se aqui, na colina, onde foi feita a descoberta. Podem avistá-la da janela. Conseguem decifrar a inscrição? Bem, estamos postados num ângulo inadequado. Mas não importa.
Ao tempo em que papai enveredou pela pesquisa de viagem no tempo, o problema todo havia sido completamente posto de lado como mau negócio pela maior parte dos físicos. Havia começado com grande estardalhaço quando foram montados os primeiros Funis do tempo, ou cronofunis.
Na verdade, não são nada de especial. São completamente irracionais e incontroláveis. O que se vê é distorcido e ondulante, de uns sessenta centímetros de largura, no máximo, e desaparece rapidamente. Tentar focalizar o passado é como tentar concentrar-se numa pena apanhada num furacão endoidecido.
Tentaram bisbilhotar no passado, mas era algo completamente imprevisível. Às vezes, conseguia-se sucesso, durante alguns segundos, aparecendo um homem encostado rigidamente às paredes do funil. No entanto, mais frequentemente, um bate-estacas não era capaz de arrancá-lo de lá. Jamais se conseguiu coisa alguma do passado, até que... Bem, chego lá.
Após cinquenta anos sem progressos, os físicos simplesmente perderam todo o interesse. A técnica operacional parecia um beco sem saída, uma dificuldade intransponível. Ao recordar os fatos, não posso honestamente afirmar que tinham culpa. Alguns tentaram mesmo mostrar que os tais funis do tempo na verdade não revelavam o passado, mas ocorreram tantas aparições de animais vivos através deles... animais agora extintos...
Por fim, quando a viagem no tempo estava quase esquecida, papai entrou em cena. Convenceu o governo a lhe conceder financiamento para a construção de seu próprio Cronofunil e retomou novamente o assunto.
Ajudei-o naqueles dias. Havia saído há pouco da universidade, com o meu próprio título de Doutor em Física.
Os nossos esforços combinados, contudo, depois de mais ou me nos um ano, esbarraram com grandes dificuldades. Papai achou-se em apuros para renovar a subvenção. A indústria não estava interessada e a universidade achou que ele estava empanando sua reputação, por sua ingenuidade em investigar um campo morto. O reitor da universidade, que só via o lado financeiro da verba para pesquisa, começou sugerindo-lhe que se voltasse para campos mais lucrativos e acabou forçando sua demissão.
Imagino que o reitor — que ainda é vivo e contava com os dólares da subvenção quando papai faleceu — provavelmente considerou-se um grande tolo quando papai deixou para a Escola um milhão de dólares, livres de descontos e uma cláusula em seu testamento cancelando a herança sobre o fundamento de que o reitor não tinha visão. Mas isso foi apenas uma vingança póstuma. Acontece que anos antes disso...
Não quero dar ordens, mas, por favor, não coma mais biscoitos. Uma sopa rala, tomada lentamente para acalmar um apetite excessivo, servirá.
Contudo, conseguimos. Papai conservou o equipamento que tínhamos adquirido com o dinheiro da subvenção, retiramo-lo da universidade e instalamo-nos aqui.
Os primeiros anos em que estivemos jogados à nossa própria sorte foram brutais e eu insistia em convencê-lo a desistir. Mas ele jamais consentiu nisso. Era indômito, sempre conseguindo arranjar alguns milhares de dólares em algum lugar, quando precisávamos deles.
A vida prosseguia, mas ele não permitia que nada interferisse na sua pesquisa. Mamãe morreu. Papai pranteou e retornou a sua tarefa. Casei-me, tive um filho e, em seguida, unta filha. Não podia estar sempre ao lado dele. Ele foi em frente sem mim. Quebrou a perna e trabalhou durante meses com o gesso atrapalhando-o.
E então reconheci-lhe o valor. Ajudei-o naturalmente. Efetuei um trabalho de consulta à parte, encetei negociações com Washington. Mas era ele a vida e a alma do projeto.
— A despeito de tudo, não estávamos chegando a lugar algum. Todo o dinheiro que conseguimos poderia perfeitamente ser despejado num dos funis do tempo — nem isso teria passado para o outro lado.
Afinal de contas, nem uma vez sequer conseguimos que um corpo atravessasse o funil. Uma vez no entanto quase o conseguimos. Havíamos conseguido transportar um objeto cerca de seis centímetros para o outro lado, quando o foco se modificou. Funcionou perfeitamente e em algum ponto da Era Mezozóica apareceu um pedaço de aço feito pela mão do homem, enferrujando nas margens de um rio.
Então, certo dia, um dia crucial, o foco conservou-se durante dez longos minutos — quando as probabilidades de isto acontecer eram de menos de uma em um trilhão de vezes. Santo Deus, os frenesis de agitação que experimentamos enquanto instalávamos as câmeras! Podíamos avistar criaturas movimentando-se freneticamente do outro lado do funil.
Bem, para encerrar, o Crono-funil tornou-se permeável ao ponto de se poder jurar que não havia senão ar entre o passado e você. A baixa permeabilidade deve ter tido alguma conexão com a longa duração do foco, mas nunca conseguimos provar que teve.
Naturalmente, não tínhamos arpéu disponível, caso não saiba. Mas a baixa permeabilidade foi bastante clara, porque algo cruzou o Então para o Agora. Como se atingido por um raio, impulsionado pelo instinto, estendi a mão e apanhei-o.
Naquele momento, perdemos o foco, mas nem por isso nos sentimos tristonhos ou desesperados. Ambos, muito desconfiados, tínhamos os olhos esbugalhados postos naquilo que eu segurava. Era um pedaço de lama ressequida, desbastada nos pontos em que batera nas bordas do Crono-funil. Sobre o pedaço de lama, que lembrava um bolo, havia catorze ovos mais ou menos do tamanho de ovos de pata.
Perguntei:
— Ovos de dinossauros? Acha que são mesmo? Papai respondeu:
— Talvez sejam. Não podemos afirmar ao certo.
— A menos que os ponhamos para chocar — disse eu, tomado de súbita e quase incontrolável emoção. Pousei-os como se fossem platina. Estavam quentes por causa do sol pristino. Eu disse:
– Papai, se os pusermos para chocar, obteremos criaturas que já extinguiram há mais de uma centena de milhões de anos. Será o primeiro caso de algo realmente trazido do passado. Se anunciarmos...
Estava imaginando o dinheiro que poderíamos conseguir, a publicidade, tudo o que significava alguma coisa para papai. Estava vendo a cara desapontada do reitor.
Papai, no entanto, encarou o assunto de modo diferente. Disse com veemência:
— Nem uma palavra, filho. Se isto for divulgado, teremos vinte grupos pesquisadores no rastro dos funis do tempo, interrompendo meu avanço. Não, a partir do momento em que tiver solucionado o enigma dos funis, você pode fazer quantos anúncios desejar. Até lá... ficamos calados. Filho, não faça essa cara. Teremos a solução dentro de um ano, estou certo disso.
Senti-me um pouco menos confiante, mas aqueles ovos, eu tinha a convicção, nos armariam com todas as provas de que necessitávamos. Montei um forno com a temperatura do corpo, com circulação de ar e umidade. Instalei um alarma que soaria ao primeiro indício de movimento dentro dos ovos.
Eclodiram às três horas da manhã, dezenove dias depois. Eram catorze diminutos cangurus cobertos de escamas esverdeadas, patas traseiras providas de unhas e pequenas coxas gordas, e caudas ralas, em forma de cordéis de chicote.
— De início, pensei que fossem tiranossauros, mas eram demasiado pequenos para aquele gênero de dinossauro. Passaram-se meses e pude prever que não seriam maiores do que cães de tamanho médio.
Papai parecia desapontado, mas eu prossegui, na esperança de que me deixasse usá-los para publicidade. Um deles morreu antes de chegar à maturidade e outro foi morto durante uma briga. Os doze restantes, contudo, sobreviveram — cinco machos e sete fêmeas. Eu os alimentava com cenouras picadas, ovos cozidos, leite e passei a gostar muito deles. Eram temerariamente estúpidos se bem que mansos. Eram lindos. As escamas deles...
Está bem, é tolice descrevê-los. Aqueles retratos originais da publicidade andaram por ai. Embora, pensando bem, eu não sabia nada sobre Marte... Ora, também! Bom...
Não obstante, demorou muito para que os retratos impressionassem o público, para não falar de uma olhada nos bichos em carne e osso. Papai continuava intransigente Passou-se um ano, dois e, fmalmente, três. Não tivemos nem um pouco de sorte com os funis do tempo. A primeira e única Oportunidade não se repetiu, e contudo papai se recusava a entregar os pontos.
Cinco das fêmeas botaram ovos e dentro em pouco eu tinha mais de cinquenta criaturinhas em mãos.
— O que vamos fazer com eles? — perguntei.
— Mate-os — respondeu ele.
Claro que não seria capaz de o fazer.
Henri, já está quase pronto? Ótimo.
Havíamos chegado ao fim de nossos recursos, quando aconteceu. Não havia mais dinheiro disponível. Eu tinha tentado em toda parte e enfrentava consistentes censuras. Sentia-me até contente, porque parecia-me que papai teria que desistir então. No entanto, com seu queixo firme e inabalável, ele tranquilamente encetou outra experiência.
Juro que, se não tivesse ocorrido o acidente, a verdade nos teria pregado uma peça para sempre. A humanidade teria sido privada de uma das suas maiores bênçãos.
Às vezes, é assim mesmo. Perkin localiza uma mancha roxa em sua roupa e surge com o corante de anilina; Remsen leva um dedo sujo à boca e descobre a sacarina. Goodyear deixa cair uma mistura no fogão e descobre o segredo da vulcanização,
No nosso caso, foi um dinossauro de tamanho médio perambulando pelo nosso principal laboratório de pesquisas. Tornaram-se tão numerosos que eu não conseguia lembrar-me de todos eles.
O dinossauro pisou em dois pontos de contato que por acaso estavam expostos — exatamente no ponto em que a placa imortalizadora do evento está atualmente localizada. Estou convencido de que tal acaso não poderia ocorrer novamente mesmo em mil anos. Houve um clarão ofuscante, um curto-circuito seguido de fagulhas, e o Crono-funil, que acabara de ser instalado, desapareceu num arco-íris de centelhas.
Em verdade, naquele exato momento, não sabíamos ao certo o que havia acontecido. Sabíamos apenas que a criatura fora vítima do curto-circuito e que talvez tivesse destruído duzentos mil dólares em equipamento e que estávamos completamente arruinados financeiramente. Tudo o que nos restava exibir era um dinossauro torrado. Nós mesmos estávamos levemente queimados, mas foi o dinossauro que recebeu toda a concentração do campo energético. Podíamos até sentir o cheiro. O ar estava saturado do cheiro dele. Papai e eu trocamos olhares de assombro. Com um par de pinças, apanhei-o com toda a cautela. Estava preto e carbonizado por fora, mas as escamas sapecadas soltaram-se conto migalhas ao meu toque, levando consigo a pele. Sob a pele torrada, havia carne branca e firme, que lembrava carne de frango.
Não pude conter-me de prová-la. Lembrava carne de frango, da mesma forma que Júpiter lembra um asteroide.
Acreditem ou não, com o nosso trabalho científico reduzido a entulho ao nosso redor, sentamo-nos e, deliciados, comemos dinossauro. Algumas partes estavam queimadas, outras quase cruas. Não tinha recheio nem molho, mas não paramos até termos limpado completamente os ossos.
Então eu disse finalmente:
— Papai, temos de criá-los honrada e sistematicamente para fins alimentares.
Papai teve de concordar; estávamos completamente sem fundos. Obtive um empréstimo do banco, mediante um convite ao presidente ao mesmo para jantar, servindo-lhe carne de dinossauro.
Nunca deixou de dar certo. Qualquer pessoa que já tenha provado o que denomino “dinofrango” se contenta com uma só porção. Uma refeição sem “dinofrango” é uma refeição que engolimos para nos manternos vivos. Somente o “dinofrango” é alimento.
A nossa família ainda é a dona da única manada de “dinofrangos” existente e somos os únicos fornecedores de uma cadeia mundial de restaurantes — a primeira e mais antiga — que se desenvolveu.
Pobre papai! Nunca mais se sentiu feliz, exceto por aqueles momentos sem par em que estivemos comendo “dinofrango”. Continuou a trabalhar nos crono-funis e assim fizeram mais vinte outras equipes pesquisadoras que, como ele havia profetizado, entraram no campo. No entanto, até hoje, nunca mais aconteceu coisa alguma. Nada, a não ser “dinofrango”.
Ah, Pierre, muito obrigado. Um trabalho excelente! Agora, senhor, se me permite vou trinchá-la. Nada de sal, apenas um pouquinho de molho. Isso... Ah, é exatamente a expressão que sempre vejo no rosto de um homem que prova pela primeira vez esta delícia.
Uma humanidade agradecida contribuiu com cinquenta mil dólares para mandar erigir a estátua na colina, mas mesmo este tributo não conseguiu fazer papai feliz.
Tudo o que ele podia ver era a inscrição: “Ao Homem que deu ao Mundo o “Dinofrango”. -
Vejam vocês, até o dia de sua morte, ele almejou uma coisa somente: descobrir o segredo da viagem no tempo. A despeito de se ter transformado em benfeitor da humanidade, faleceu com sua curiosidade insatisfeita.
O meu título original havia sido “Benefactor of Humanity” (“Benfeitor da Humanidade”), em que eu julgava transmitir um leve sabor de ironia, e irritei-me quando Leo Margulies da Satellite modificou o título. Quando The Saturday Evening Post solicitou autorização para publicar a história (ela apareceu nos números de março-abril de 1973, naquela revista) estabeleci como condição que restaurassem o título original. Mas então, quando vi o meu próprio título impresso, refleti um pouco sobre o assunto e concluí que o título de Leo era melhor. De modo que aparece aqui, novamente, como “Uma Estátua para Papai” (“A Statue for Father”).
Incidentalmente, Bob Mills, a quem mencionei em conexão com “Júpiter à Venda”, era um grande amigo meu quando trabalhava para F & SF e Venture. Por outro lado, não é uma daquelas pessoas que perdi de vista. Vendeu a alma ao diabo e é agora vendedor, mas nos vemos de quando em quando e somos mais amigos do que nunca.
Foi Bob quem contribuiu para que eu me voltasse para a não- ficção. Uma vez que eu detestava escrever peças de pesquisas, comecei em 1953 a escrever peças imaginárias sobre Química para o Journal of Chemical Education. Já tinha escrito cerca de uma dúzia, quando me ocorreu que não estava fazendo nada por elas, nem estava alcançando meu público.
Em vista disso, passei a compor artigos de não-ficção para revistas de ficção científica; artigos estes que me proporcionavam maior escopo e multo mais variedade do que poderia proporcionar-me qualquer jornal escolar. O primeiro deles foi “A Hemoglobina e o Universo” (“Hemoglobin and the Universe”), que foi publicado em Astounding, em fevereiro de 1955.
Em setembro de 1957, porém, Bob Mills fez-me uma visita e perguntou-me se eu poderia escrever uma série regular de artigos para Venture. Concordei exultante e o primeiro deles, “Fecundidade Limitada” (“Fecundity Limited”) saiu no número de janeiro, de Venture. Infelizmente, Venture durou apenas mais alguns números, antes de encerrar suas atividades; mas então fui convidado para escrever a mesma coluna para F & SF. O primeiro dos artigos foi “Poeira das Idades” (“Dust of Ages”), que foi publicado no número de novembro de 1958 da mencionada revista.
As séries da F & SF duraram e floresceram. O pedido havia sido feito no sentido de uma coluna de 1.500 palavras, de início, e foi essa a extensão de todos os artigos em Venture e do primeiro artigo em F & SF Dentro em breve, veio o pedido de que o número de palavras fosse elevado para quatro mil e, começando com “Catching Up With Newton”, no número de dezembro de 1958, da F & SF, foram os artigos mais longos.
As séries da F & SF têm sido assombrosamente bem sucedidas. Meu duocentésimo artigo da série apareceu na edição de junho de 1951, de F & SF. Até o presente momento, não tenho deixado passar uma só edição, e talvez seja a mais longa série de artigos escritos por um só autor (que não o editor) que já apareceu em uma revista de ficção científica. Estes artigos são periodicamente colecionados em livros de ensaios pela Doubleday, que a esta altura de meus escritos devem ser onze.
Contudo, o mais importante de tudo é o divertimento que consigo com estes artigos mensais. Até hoje, encontro mais prazer neles do que em quaisquer outros trabalhos literários. Estou sempre um ou dois meses à frente do prazo de entrega, porque não consigo esperar, mas os editores não parecem importar-se com isso.
Num certo sentido, foi Bob Mills quem ajudou a firmar o meu atual estilo de escrever artigos, um estilo de intensa sem-cerimônia que tenho conseguido inserir também nas minhas coleções de ficção (de que este livro dá testemunho). Enquanto lhe escrevia a coluna, ele constantemente se referia à minha pessoa como “o Bom Doutor”, enquanto eu o chamava “o Bondoso Editor”, e divertíamo-nos a valer brincando um com o outro nas notas de rodapé de página, até o dia em que resignou ao seu posto (não, não foi causa-e-efeito).
De qualquer forma, os artigos ajudaram firmar-me na não-ficção e tomaram ainda mais duro fazer ficção. Bob, você precisa compreender, não era a favor de eu não escrever ficção. Às vezes sugeria tramas para as histórias, numa tentativa de persuadir-me a escrever, e de vez em quando eu apreciava as sugestões. Por exemplo, uma delas terminou como “Até a Quarta Geração” (“Unto The Fourth Generation”), que apareceu no número de abril de 1959, na revista F & SF e foi em seguida incluída em O Cair da Noite. Este é um dos meus contos prediletos.
Julguei que ele havia sugerido outro êxito quando escrevi uma de suas ideias em “Chuva, Chuva, Vá Embora”. Redigi-a no dia 1º de novembro de 1958, entreguei no dia 2 e foi rejeitada no dia 2. Bondoso editor, com efeito!
Encontrei, eventualmente, um lugar para a história. Foi publicada no número de setembro de 1959 de Fantastic Universe Science Fiction.
Chuva, chuva, vá embora!
— Aí está ela novamente — disse Lillian Wright, enquanto ajustava cuidadosamente as persianas; — Aí está, George.
— Aí está quem? — perguntou o marido, tentando obter um contraste satisfatório no televisor, a fim de acomodar-se pan o jogo de bola.
— A sra. Sakkaro — respondeu ela e, para antecipar-se ao inevitável “quem é” do marido, acrescentou afobadamente. — Os novos vizinhos, Santo Deus!
— Tomando banho de sol. Sempre tomando banho de sol. Gostaria de saber onde está o garoto dela. Costuma ficar fora de casa num dia bonito como este, em pé naquele enorme jardim deles, jogando bola contra a casa. Já viu ele, George?
— Já ouvi ele. É uma versão do suplício chinês da água. Bate na parede, bate no chão e bate na mão, bate na parede, bate no chão e bate na mão...
— É um bom menino, sossegado e bem comportado. Gostaria que Tommie fizesse amizade com ele. Tem a mesma idade, uns dez anos, penso.
— Não sabia que Tommie era acanhado em fazer amizades.
— Bem, é difícil com os Sakkaro. São tão reservados, nem sei como o sr. Sakkaro consegue isto.
— E por que deveria saber? O que ele faz não é da conta de ninguém.
— É estranho que nunca o veja ir para o trabalho.
— Nunca ninguém me vê ir para o trabalho.
— Você fica em casa, escrevendo. E ele, o que faz?
— Suponho que a sra. Sakkaro sabe o que o sr. Sakkaro faz e está muito aflita por que não sabe o que eu faço.
— Ora, George — Lillian afastou-se da janela e olhou na televisão com asco. (Schoendienst estava com a bola.) — Acho que deveríamos fazer um esforço; a vizinhança toda devia.
— Que espécie de esforço? — George estava acomodado confortavelmente na poltrona com uma Coca-cola tamanho família aberta havia pouco, recoberta por uma camada fina de gelo.
— Para conhecê-los.
— Por que não o fez, assim que ele se mudou? Você disse que a visitou.
— Eu disse um olá. Ela havia acabado de mudar-se e a casa ainda estava numa tremenda desordem, de modo que só foi possível isto, um olá. Já se passaram dois meses e até agora nada mais do que um “olá”, de tempos em tempos... Ela é tão esquisita.
— É mesmo?
— Está sempre olhando o céu. Já a vi fazendo isso uma centena de vezes. Por outro lado, nunca sai de casa quando o céu fica um pouquinho nublado. Certa vez, quando o garoto estava jogando bola lá fora, gritou para que ele entrasse, dizendo aos berros que ia chover. Eu a ouvi, casualmente, e, santo Deus, eu tinha roupa no varal. Saí correndo e quer saber duma coisa? fazia um dia bonito. Sim, havia algumas nuvens no céu, mas nada ameaçador.
— E acabou chovendo?
— É claro que não. Saí para o quintal para nada.
George estava perdido entre dois ataques à base e uma gritaria ensurdecedora que significava ponto da partida de beisebol. Quando terminou a excitação e o lançador estava tentando recompor se, George gritou às costas de Lillian que estava desaparecendo na cozinha:
— Bem, como são do Arizona, acho que não são capazes de distinguir nuvens de chuva das outras.
Lillian voltou à sala de visitas, tamborilando ruidosamente os sapatos de salto alto.
— De onde?
— Do Arizona, de acordo com Tommie.
— Como Tommie soube?
— Falou com o garoto, durante os intervalos do jogo de bola, imagino, e ele contou a Tommie que são do Arizona. Depois o garoto foi chamado para dentro de casa. Pelo menos, Tommie diz que ou é Arizona, ou Alabama, ou algum lugar assim. Você sabe como é Tommie e suas recordações incompletas. No entanto, se ficam tão nervosos por causa do tempo, acho que se trata do Arizona e não sabem o que fazer num clima tão chuvoso como o nosso.
— Mas por que você nunca me contou?
— Porque vi Tommie somente esta manhã e pensei que ele já lhe havia contado e, para dizer-lhe a verdade absoluta, porque imaginei que vocês conseguiriam levar uma existência normal se nunca descobrissem.
— Caramba!
A bola entrou como um bólido na arquibancada direita e houve aquela vaia no lançador.
Lillian retornou às persianas e disse:
— Terei apenas que travar conhecimento com ela. Ela parece tão agradável... Oh, céus, veja aquilo, George!
George só tinha olhos para o televisor.
Lillian disse:
— Sei que ela está de olhos pregados naquela nuvem. E agora vai entrar. Honestamente.
George saiu dois dias depois para realizar algumas consultas na biblioteca e voltou para casa com um carregamento de livros. Lillian saudou-o jubilantemente.
Disse-lhe:
— Você não vai fazer coisa alguma amanhã.
— Isso soa como uma declaração, não uma pergunta.
— E é uma declaração. Vamos com os Sakkaro ao Parque de Murphy.
— Com...
— Com os vizinhos da porta ao lado, George. Como nunca consegue lembrar-se do nome?
— Sou bem dotado. Como aconteceu?
— Simplesmente flui até a casa deles de manhã e toquei a campainha.
— Tão fácil assim?
— Não foi fácil. Foi difícil. Fiquei em pé lá, tremendo, com o dedo na campainha, até pensar que tocar a campainha seria mais fácil do que a porta abrir-se e eu ser surpreendida, em pé, como uma imbecil.
— E ela não a pôs para fora a pontapés?
— Não. Foi tão gentil quanto podia ser. Convidou-me para entrar, reconheceu-me e disse que estava muito contente de eu ter ido fazer uma visita. Você compreende.
— E você sugeriu que fôssemos ao Parque de Murphy?
— Sim, imaginei que se sugerisse alguma coisa que deixasse as crianças se divertirem, seria muito mais fácil ela concordar. Ela não gostaria de desperdiçar uma boa oportunidade para o filho dela.
— Psicologia de mãe.
— Mas você devia vê-la em casa.
— Ah, teve uma razão para tudo isso. É Óbvio. Quis fazer uma incursão turística. Por favor, poupe-me os detalhes do ambiente. Não estou interessado nas cobertas da cama e o tamanho dos armários é um item que posso dispensar.
O segredo do casamento feliz deles estava em que Lillian não dava nenhuma atenção a George. Entrou em detalhes a respeito da casa, descreveu meticulosamente as cobertas e deu-lhe uma descrição de cada centímetro dos armários.
— E como é limpa! Nunca vi outra casa tão impecável!
— Então, se a conhecer, ela estará impondo a você padrões impossíveis e você terá que esquecê-la em autodefesa.
— A cozinha dela — continuou Lillian, ignorando-o — é tão incrivelmente arrumada que a gente mal pode acreditar que ela algum dia a usou. Pedi um copo d'água, ela segurou o copo embaixo da torneira e encheu-o tão vagarosamente que nem sequer uma gota d'água caiu na pia. Não foi afetação, não. Ela o fez com tanta naturalidade que percebi imediatamente que ela estava habituada a fazê-lo daquele modo. E quando me passou o copo, segurou-o com um guardanapo limpo. Tudo na base da higiene hospitalar.
— Deve criar muitos problemas para si mesma. Concordou logo em sair conosco?
— Bem... não imediatamente. Telefonou ao marido para saber qual era a previsão do tempo e ele respondeu que os jornais afirmavam que amanhã vai fazer bom tempo, mas estava aguardando o último boletim do rádio.
— Todos os jornais anunciaram tempo bom?
— Claro, todos publicam a previsão de tempo oficial, de forma que têm de concordar. Penso que os vizinhos assinam todos os jornais. Pelo menos, tenho observado o pacote de jornais que o jornaleiro deixa...
— Você não deixa passar quase nada, hem?
— Como eu dizia — prosseguiu Lillian, muito séria — ela telefonou para o departamento de previsão do tempo, fê-los dar a última previsão e em seguida transmitiu-a ao marido e prometeram que iriam, mas que telefonariam para a gente se houvesse qualquer mudança imprevista no tempo.
— Está bem, então iremos.
Os Sakkaro eram jovens agradáveis, morenos e simpáticos. Com efeito, quando desceram a comprida calçada para ter ao local em que o automóvel dos Wright estava estacionado, George inclinou-se para a esposa e disse baixinho no ouvido dela:
— Bem, então ele é a razão.
— Gostaria que fosse — disse Lillian. — Aquilo que está carregando é uma bolsa?
— Rádio de bolso. Calculo que é para escutar as previsões de tempo.
O filho dos Sakkaro veio correndo atrás deles, acenando com algo que se revelou ser um barômetro aneroide, e os três acomodaram-se no banco traseiro. Iniciou-se então uma conversa que se prolongou até o Parque de Murphy, com visível toma-lá-dá-cá sobre assuntos impessoais.
O garoto dos Sakkaro era tão educado e razoável que o próprio Tommie Wright, metido como uma cunha entre os pais, no banco da frente, cedeu ao exemplo e deu mostras de ser civilizado. Lillian não conseguia recordar-se de ter algum dia feito um passeio de carro tão tranquilo.
Não se sentia nem um pouco aborrecida pelo fato de que, ainda que mal pudesse ser ouvido sob o fluxo da conversa, o pequeno rádio do sr. Sakkaro estivesse ligado, e em momento algum o viu levá-lo ao ouvido.
Foi um dia maravilhoso no Parque de Murphy; quente e seco, sem ser excessivamente quente, com uni sol brilhante e animador num céu azul brilhante. Até o sr. Sakkaro, que inspecionava trecho por trecho do céu com um cauteloso olho, para em seguida consultar penetrantemente o barômetro, parecia não encontrar nenhuma falha no céu.
Lillian guiou os dois meninos até a secção de recreação e comprou bilhetes suficientes para permitir a cada um toda uma variedade de emoções centrífugas que o parque oferecia.
— Por favor — disse ela à sra. Sakkaro, que protestava — deixe isto por minha conta. Na próxima vez deixarei que cuide disto.
Quando voltou, George estava sozinho.
— Onde?... — começou ela.
— Ali mesmo, na barraca de refrigerantes. Disse-lhes que esperaria por você aqui e então nos juntaríamos a eles. — Ele parecia tristonho
— Algo errado?
— Não, na verdade, apenas penso que ele deve ser independentemente rico.
— Porquê?
— Não sei o que faz para viver. Imaginei...
— Ora, quem está curioso?
— Estava fazendo isto por você. Ele disse que é apenas um estudioso da natureza humana.
— Quanta filosofia! Isso devia explicar todos aqueles jornais.
— É, mas com um homem simpático e rico na casa pegada à nossa, parece-me que também terei padrões impossíveis estabelecidos para mim.
— Não seja tolo.
— E ele não é do Arizona.
— Não?
— Eu disse que ouvi que ele é do Arizona. Ficou tão espantado que obviamente não é de lá. Em seguida deu uma gargalhada e perguntou-me se tinha sotaque da gente do Arizona.
Lillian disse, meditativamente:
— Sabe, ele tem algum tipo de sotaque. Há uma porção de gente de ascendência espanhola no sudeste, de modo que assim mesmo ele poderia ser do Arizona. Sakkaro poderia ser um nome espanhol.
— Para mim, soa como japonês. Vamos, eles estão acenando para a gente. Santo Deus! Veja o que compraram!
Cada um dos Sakkaro segurava três bengalas de algodão-doce, enormes redemoinhos de espuma cor-de-rosa que consistiam de fios de açúcar seco feito de xarope espumante que havia sido batido num recipiente aquecido. Dissolvia-se meladamente na boca, deixando uma sensação pegajosa na pessoa.
Os Sakkaro ofereceram um algodão-doce a cada um dos Wright e estes, por uma questão de educação, aceitaram.
Começaram então a caminhar e, a meio caminho, experimentaram o arremesso de dardos, num tipo de jogo em que as bolas são lançadas em orifícios e arrancam cilindros de madeira de pedestais. Bateram fotografias, gravaram as respectivas vozes e mediram a força de suas mãos.
Por fim, reuniram as crianças, cujas entranhas haviam sido reduzidas a um satisfatório estado de turbulenta saturação e os Sakkaro levaram-nos imediatamente à barraca de refrigerantes. Tommie deu a entender que teria enorme prazer com a possível compra de um cachorro-quente. George atirou-lhe 25 cents. Tommie afastou-se carrancudo.
— Francamente — disse — prefiro ficar aqui. Se os vir comer .outra bengala de algodão-doce ficarei verde e enjoado na mesma hora. Se já não comeram uma dúzia delas cada um, eu mesmo me disponho a comer uma dúzia.
— Sei disso, e agora estão comprando uma porção delas para o filho.
— Ofereci-me para comprar um hambúrguer para Sakkaro, mas ele fez cara feia e abanou a cabeça. Não que um hambúrguer signifique muito, mas após tantos algodões-doces, devia ser um banquete.
— Compreendo. Ofereci a ela um suco de laranja e, a julgar pelo jeito como ela pulou ao dizer não, é de se pensar que o atirei no rosto dela. — Bem, suponho que jamais estiveram num lugar destes e precisam de tempo para se acostumarem com as novidades. Ficarão abarrotados de algodão-doce e então nunca mais o comerão nos próximos dez anos.
— Pode ser e caminharam devagar até os Sakkaro. — Veja, Lil, está ficando nublado.
O sr. Sakkaro tinha o rádio pregado ao ouvido e estava olhando aflitamente para o lado oeste.
— Epa! — disse George — ele já viu. Aposto cinquenta dólares que ele vai querer ir para casa.
— Os três Sakkaro caíram sobre ele, com educação, mas insistentemente. Sentiam muito, haviam tido momentos maravilhosos, divertiram-se muito, os Wright seriam os convidados deles assim que houvesse ocasião, mas naquele momento tinham mesmo que ir para casa. Parecia que ia desabar uma tempestade. A sra. Sakkaro queixou-se de que todas as previsões tinham anunciado tempo bom.
George tentou consolá-los:
— É difícil fazer a previsão de um temporal local mas, mesmo que ocorresse, não poderia durar mais do que meia hora, no máximo.
Ante o comentário, o garoto dos Sakkaro pareceu à beira de lágrimas, e a mão da sra. Sakkaro, segurando um lenço, tremia visivelmente.
— Vamos para casa — disse George resignado.
A viagem de volta parecia nunca mais acabar. Não havia nada sobre o que falar. O volume do rádio do sr. Sakkaro estava muito alto, enquanto ele mudava de uma estação para outra, captando a todo momento boletins do tempo. Naquele momento falavam de pancadas de chuva ocasionais.
O filho dos Sakkaro chorou porque o barômetro estava falhando, e a sra. Sakkaro, com o queixo na palma da mão, fitou lugubremente o céu e pediu a George o favor de aumentar a velocidade do carro.
— Está mesmo ameaçador, não está? — perguntou Lillian numa educada tentativa de compartilhar da atitude de seus convidados. Mas em seguida George ouviu-a murmurar quase inaudivelmente: — Francamente!
Um vento tinha começado a soprar, levando à sua frente a poeira da rua que há semanas não recebia chuvas, quando entraram na rua em que moravam. As folhas farfalhavam agourentamente. Relâmpagos riscavam o céu.
George disse:
— Estarão dentro de casa dentro de dois minutos, amigos. Vou conseguir isso.
Estacionou defronte ao portão que se abria para o espaçoso jardim dos Sakkaro e saiu do carro para abrir a porta traseira. Julgou sentir um pingo d'água. Chegaram bem em tempo.
Os Sakkaro atropelaram-se para fora do carro, os rostos distorcidos devido à tensão e dispararam para a calçada do jardim.
— Francamente — disse Lillian — é de se pensar que são...
— O céu se abriu e a chuva desabou em pingos gigantescos, como se algum dique celestial se tivesse rompido. A capota do carro foi martelada por uma centena de baquetas. A meio caminho da porta da frente os Sakkaros pararam e olharam desesperadamente para o alto.
Os rostos foram ficando indistintos à medida que a chuva caía sobre eles; em seguida encolheram-se e desmancharam-se. Todos os três encolheram-se e murcharam dentro das roupas, as quais se amontoaram no chão, transformadas em três montes lamacentos e viscosos.
Durante todo o tempo os Wright permaneceram sentados no carro, transpassados de horror. Lillian viu-se incapaz de deixar de arrematar sua observação: “... feitos de açúcar e receosos de se dissolverem”.
O meu livro “O Futuro Começou” foi bastante bem sucedido para que a Doubleday se decidisse a editar outros similares, de escritores que haviam estado escrevendo o tempo suficiente, proporcionando-lhes assim um período inicial de algum valor, O primeiro livro da série denomina-se The Early del Rey, do meu grande e velho amigo Lester Dei Rey.
Lester não tem em seu livro pormenores autobiográficos, como eu, mas envidou esforços no sentido de que o livro fosse um recurso mais sóbrio no sentido de descrever seus pontos de vista sobre como escrever ficção científica.
Algo, todavia, me ocorre ocasionalmente, e uma pequena regra aparece em conexão com “Chuva, Chuva, Vá Embora!”. Se pretende escrever um conto, evite referencias contemporâneas. Elas assinalam uma data da história e não possuem poder de permanência. A história menciona Schoendienst como estando na defesa durante um jogo de beisebol. Bem, com os diabos, quem foi Schoendienst? Lembram-se? O nome significa alguma coisa para vocês, com referência a uma década e meia atrás?
E, se tiver, há alguma vantagem em lembrar o leitor que a história tem dez ou quinze anos de idade? Concordo que gasto páginas contando-lhes como minhas histórias são antigas, e outras coisas a respeito delas, mas é algo diferente. Vocês são todos meus antigos.
A flutuação para a não-ficção continuou. Na primavera de 1959 Leon Svirsky, da Basic Books, Inc., persuadiu-me a redigir um livro grande a ser denominado The Intelligent Man's Guide to Science, que foi publicado em 1960. Foi o meu primeiro autêntico sucesso no campo da não-ficção. Recebeu inúmeras críticas elogiosas e a minha renda anual subitamente passou a ser o dobro.
Quero que percebam que eu não estava fazendo todas essas coisas só por dinheiro, mas, minha família estava crescendo e eu não ia desprezá-lo. Em vista disso, houve novamente aquele impulso não muito forte de retomar a ficção.
Frederik Pohl, que havia–sucedido a Horace Gold como editor de Galaxy, tentou, em março de 1965, convencer-me a escrever um Conto, ao enviar-me uma capa ilustrada que ele pretendia imprimir, e pediu-me que escrevesse uma história baseado nela: “Você tem a capa — frisou — de modo que será fácil”.
Não, não foi. Examinei a capa, que mostrava com destaque um rosto enorme, tristonho, coberto por um capacete espacial, tendo no fundo diversas cruzes grosseiras, nas quais estavam pendurados vários capacetes. Devia ter dito a Fred que não conseguia deslindar aquilo mas, como se tratava de um velho amigo, não quis desanimá-lo porque eu tinha a certeza que podia fazer qualquer coisa. De modo que, com supremo esforço, escrevi o que segue, que apareceu no Galaxy de agosto de l965
Foram os pais
A combinação original de catástrofes acontecera cinco anos atrás — cinco revoluções deste planeta, o HC-l2549, segundo os mapas, e segundo outros meios. Seis-mais revoluções da Terra, mas havia alguém para contá-las?
Se os homens que ficaram em casa soubessem, poderiam afirmar que foi uma luta heroica, um épico da Corporação Galáctica; cinco homens contra um mundo inóspito, lutando até o, fim durante cinco (ou seis-mais) anos. Agora estavam morrendo; a batalha perdida depois de tudo. Três homens em estado de coma, o quarto ainda tinha o globo ocular amarelecido exposto e o quinto ainda estava em pé.
Contudo, não era absolutamente uma questão de heroísmo. Eram cinco homens lutando com a monotonia e o desespero e mantendo a cúpula metálica de habitabilidade apenas pela razão não muito heroica de que não havia nada para fazer enquanto lhes restava vida.
Se algum deles se sentiu estimulado pela batalha, nunca o mencionou. Após o primeiro ano cessaram de falar em resgate e, decorrido o segundo ano, uma moratória caiu sobre a palavra “Terra”.
Não obstante, uma palavra permaneceu presente; ainda que não enunciada, podia ser encontrada nas mentes deles: “Amônia”.
Ela apareceu primeiramente quando todas as possibilidades de aterragem foram excluídas por causa de motores claudicantes de uma espaçonave desgastada pelo uso.
Naturalmente, vocês admitem o azar; esperam que ocorra um certo número de vezes — mas um azar de cada vez, O calor de uma estrela queima os supercircuitos — a espaçonave pode ser reparada, se houver tempo. Um meteorito desajusta as válvulas de alimentação — elas podem ser consertadas, se houver tempo. A trajetória é calculada erroneamente, sob tensão, e uma insuportável e momentânea aceleração arranca as antenas ajustáveis e entorpece os sentidos de cada um dos homens a bordo — mas as antenas podem ser substituídas e os sentidos voltarão, se houver tempo.
As chances de que todas as três coisas acontecerão simultaneamente são de uma em incontável número de vezes. Menores ainda porque essas coisas ocorrem durante uma aterragem especialmente complicada, quando o único elemento mais necessário para a correção de todos os erros — o tempo — é a coisa que mais falta.
O Cruzador John deparou com a chance, dentro de inumeráveis possibilidades de que tal não acontecesse, e fez uma descida final, pois jamais se levantaria novamente de uma superfície planetária.
O simples fato de ter aterrado quase sem problemas foi por si só um quase-milagre. Supôs-se que os cinco viveriam pelo menos por alguns anos. Fora disto, somente a aterragem desastrosa de outra espaçonave poderia ajudar, mas ninguém contava com isso. Eles haviam tido sua parcela de coincidências na vida, sabiam, e tudo lhes saíra mal.
As coisas estavam neste pé.
A palavra-chave era amônia. Com a superfície erguendo-se em espirais e a morte (misericordiosamente rápida) pela frente, sendo esta muito melhor do que possíveis probabilidades, Chou arranjou tempo para consultar o espectrógrafo de absorção, que estava realizando registros muito desiguais.
— Amônia — gritou ele. Os outros ouviram mas não havia tempo para prestar atenção. Havia apenas a luta desesperada para trocar uma morte violenta e rápida por uma mais lenta.
Quando finalmente aterraram sobre terreno arenoso com esparsa vegetação azulada (azulada?), capim cheio de juncos, espantosos objetos parecidos com árvores, com casca azul, desprovidos de folhas, nenhum indício de vida animal e com um céu riscado de nuvens esverdeadas (esverdeadas?) — a palavra voltou para assombrá-los.
— Amônia? — perguntou Petersen, com voz arrastada.
Chou confirmou:
— Quatro por cento.
— Impossível! — replicou Petersen.
Não era. Os livros não diziam que era impossível. O que a Corporação Galáctica tinha descoberto é que um planeta de certa massa e volume e uma certa temperatura era um planeta oceânico e tinha uma de duas atmosferas: nitrogênio/oxigênio ou nitrogênio/ gás carbônico. No primeiro caso, havia formas de vida avançada; no segundo, vida primitiva.
Ninguém perdeu mais tempo em verificar massa, volume e temperatura. Um deles aceitou a atmosfera (uma ou outra) sem mais especulações. No entanto, os livros não diziam que tinha de ser assim, mas que sempre foi assim. Outras atmosferas eram termodinamicamente possíveis, mas extremamente improváveis, de forma que na prática não eram encontradas.
— Até então. Os homens do Cruzador John haviam encontrado uma daquelas atmosferas e seriam banhados pelo resto da existência.
Os homens converteram a espaçonave num refúgio subterrâneo com ambiente terrestre. Não podiam subir à superfície, nem enviar um raio de comunicação através do espaço, mas tudo o mais era recuperável. Para compensar as deficiências do sistema de circuitos, poderiam valer-se da água e do suprimento de ar do planeta, dentro de certos limites. Desde que, naturalmente, subtraíssem a “amônia”.
Organizaram grupos de exploração, mesmo porque os trajes espaciais estavam em perfeitas condições e as excursões faziam passar o tempo. O planeta era inofensivo. Nenhuma vida animal, escassa vida vegetal por toda parte. Azul, sempre azul: clorofila impregnada de amônia; proteína impregnada de amônia.
Montaram laboratórios, analisaram os componentes das plantas, estudaram as seções microscópicas, compilaram grandes volumes com as descobertas. Tentaram cultivar as plantas nativas em atmosfera isenta de amônia, mas não conseguiram. Transformaram-se em geólogos e estudaram a crosta do planeta; em astrônomos para estudar o espectro solar do planeta.
Barrère dizia de vez em quando:
— Eventualmente, a Corporação alcançará este planeta novamente. Deixaremos para eles um legado de conhecimentos. Afinal de contas é um planeta sem igual. Pode não haver outro semelhante à Terra e com amônia em toda a Via Láctea.
— Excelente — disse Sandropoulos amargurado. — Que sorte a nossa!
Sandropoulos esclareceu a termodinâmica da situação.
— Um sistema metaestável — disse ele. — A amônia desaparece regularmente através de oxidação geoquímica que forma o nitrogênio; a planta utiliza o nitrogênio e forma novamente amônia, adaptando-se à presença de amônia. Se a média de formação de amônia através da planta caísse em dois por cento, se estabeleceria um espiral declinante. A vida vegetal murcharia, reduzindo ainda mais a amônia, e assim por diante.
— Você quer dizer que, se matássemos bastantes plantas — disse V — poderíamos acabar com a amônia?
— Se tivéssemos trenós de ar e desintegradores de grande abertura angular, e um ano de prazo para trabalhar, talvez pudéssemos — tornou Sandropoulos — mas não temos e há um método melhor. Se deixássemos as plantas vivas, a formação de oxigênio através de fotossíntese aumentaria a taxa de oxidação da amônia. Mesmo uma pequena cultura localizada baixaria a amônia da região, estimularia ainda mais o crescimento de plantas terrestres e inibiria o crescimento das plantas nativas, fazendo com que a amônia caísse mais, e assim por diante..
Transformaram-se em jardineiros durante toda a temporada do plantio. Afinal, aquilo era rotina para a Corporação Galáctica. A vida nos planetas semelhantes à Terra era geralmente do tipo água- proteína, mas a variação era infinita e o alimento de outros mundos era raramente nutritivo e frequentemente pouco saboroso. Era necessário experimentar plantas terrestres de diferentes espécies. Acontecia frequentemente (não sempre, mas com frequência) de as plantas terrestres se alastrarem e sufocarem a flora nativa. Contida a flora nativa, outras plantas terrestres começariam a desenvolver-se.
Muitos planetas haviam sido convertidos em novas Terras desta forma. No processo, as plantas terrestres desenvolveram centenas de variedades resistentes que vingaram sob condições extremas — tanto melhor para a semeadura no planeta seguinte.
A amônia mataria qualquer planta terrestre, mas as sementes à disposição do Cruzador John não eram autênticas sementes da Terra, mas mutações dessas plantas, provenientes de outros mundos. Resistiam bravamente, mas não o suficiente. Algumas variedades cresciam débil e doentiamente e logo morriam.
Neste aspecto saíam-se melhor do que a vida microscópica. Os bacteroides do planeta eram muito mais vigorosos do que a esparsa vegetação azul. Os micro-organismos anulavam pela asfixia das sementes e das plantas qualquer tentativa de estabelecer uma competição com as espécies terrestres. Falhou o esforço de semear o solo alienígena com bactérias da flora terrestre a fim de socorrer as plantas do planeta Terra.
Vlassov abanou a cabeça:
— Não daria certo, de qualquer forma. Se as nossas bactérias sobrevivessem, seria somente ajustando-se à presença de amônia.
Sandropoulos disse:
— As bactérias não nos ajudarão. Precisamos das plantas; são elas que fazem funcionar os sistemas de produção de oxigênio.
— Nós mesmos poderíamos produzir um pouco — propôs Petersen. — Poderíamos eletrolisar a água.
— Quanto tempo resistirá o nosso equipamento? Se pelo menos conseguíssemos conservar vivas as nossas plantas, seria como eletrolisar eternamente a água, aos poucos, mas ano após ano, até o planeta ceder.
Barrère disse:
— Então vamos tratar do solo. Está repleto de sais de amônia. Queimaremos esses sais e colocaremos em seu lugar terra livre desses sais.
— E com relação à atmosfera? — perguntou Chou.
— Em solo livre de sais de amônia, eles crescerão, a despeito da atmosfera. Dará certo.
Trabalharam como estivadores, mas sem um propósito bem definido em mente. Ninguém acreditava que realmente daria certo. Ademais, não havia futuro para eles, pessoalmente, mesmo que a ideia funcionasse. Mas o trabalho ajudava a passar os dias.
Na estação de plantio seguinte, já tinha terra livre de amônia, mas as plantas terrestre; cresciam ainda debilmente. Chegaram mesmo a colocar campânulas sobre vários brotos e a bombear ar sem amônia dentro delas. Ajudou um pouco, mas não multo. Fizeram combinações de toda a espécie na composição química do solo, mas não melhorou.
Os débeis brotos produziram ínfima porção de oxigênio, mas não em quantidade suficiente para destituir a atmosfera de amônia.
— Mais uni empurrão — disse Sandropoulos — mais um. Estamos balançando, estamos balançando, mas ainda não conseguimos derrubá-la.
As ferramentas e instrumentos embotaram e desgastaram-se com o correr do tempo e o futuro assediava-nos implacavelmente. A cada mês havia menos espaço para manobrar.
Quando, afinal, o fim chegou, foi como unia subitaneidade quase gratificante. Não havia um nome para denominar a fraqueza e a vertigem. Ninguém suspeitava de envenenamento direto pela amônia. No entanto, estavam se alimentando com plantas algáceas que haviam sido a fonte de hidrogênio durante anos, e as plantas eram, em si mesmas, uma aberrante possibilidade de contaminação por amônia.
Poderia ter sido obra de algum micro-organismo nativo que havia finalmente aprendido a alimentar-se à custa deles. Ou, quem sabe, um micro-organismo terrestre, transmudado sob as condições de um mundo estranho.
Assim, finalmente, os três morreram e, louvadas sejam as circunstâncias, sem sofrimento. Alegraram-se em partir, em parar a luta inútil.
Chou disse num fraco sussurro:
— Não há sentido em terminar tão mal.
Petersen, o único dos cinco que havia conseguido manter-se em pé (por algum motivo, ficara imune), voltou o rosto pesaroso para seu único companheiro vivo:
— Não morra — não me deixe sozinho.
Chou tentou sorrir:
— Não tenho escolha — mas você pode nos seguir, velho amigo. Por que lutar? As ferramentas se foram, e não há meios de.vencer, se é que houve algum dia.
Ainda então Petersen lutava contra o desespero final, concentrando-se na luta contra a atmosfera. Mas seu espírito estava alquebrado, o coração despedaçado e quando Chou morreu, dentro de uma hora, viu-se às voltas com quatro corpos.
Fitou os cadáveres, buscando as recordações (agora que estava sozinho e ousava chorar) na Terra, que ele havia visto, pela última vez, numa visita há onze anos.
Teria que enterrar os corpos. Teria que partir os galhos daquelas árvores azuladas para fazer cruzes para eles; teria que pendurar o capacete espacial de cada homem na cruz e escorar tanques de oxigênio no corpo de cada cruz, Tanques vazios que simbolizavam uma batalha perdida.
Um tolo sentimentalismo por homens que não mais se importariam com coisa alguma e por olhos futuros que talvez jamais veriam coisa alguma.
Contudo, ele o estava fazendo por si mesmo, para mostrar respeito pelos amigos, respeito por si mesmo, porquanto não era o tipo de indivíduo capaz de deixar os amigos abandonados na morte, enquanto ele mesmo podia manter-se em pé.
Por outro lado...
Por outro lado?... Sentou-se, deixando-se absorver por sombrios pensamentos durante alguns instantes.
Enquanto estivesse vivo, lutaria com os instrumentos que ainda restavam. Enterraria os amigos.
Sepultou cada um deles num sítio de terra isenta de amônia, em que eles tão laboriosamente haviam trabalhado; sepultou-os sem mortalhas e sem roupas; baixou-os nus no chão hostil para a decomposição lenta que adviria de seus próprios micro-organismos antes que estes, também, morressem com a inevitável invasão dos bacteroides do próprio planeta.
Petersen colocou cruz por cruz, e também os capacetes e tanques de oxigênio escorados por rochas; e em seguida afastou-se, de cara fechada e olhos tristonhos, a fim de retornar à espaçonave enterrada, que passara a habitar sozinho.
Trabalhou todos os dias e, ao fim de algum tempo, os sintomas surgiram nele também.
Lutou dentro do traje espacial e subiu à superfície, compreendendo que aquela seria a última vez.
Caiu de joelhos no meio do canteiro. As plantas terrestres estavam verdes. Haviam vivido mais tempo do que em qualquer ocasião anterior. Pareciam saudáveis, mesmo viçosas.
Haviam reforçado o solo e nutrido a atmosfera e então Petersen usou a última ferramenta, a única que ficara à sua disposição. Dera-lhes também um pouco de fertilizantes...
Da carne em lenta putrefação dos terráqueos saíram os nutrientes que alimentaram o impulso final. Das plantas terrestres saiu o oxigênio que rebateria a amônia e retiraria o planeta do inexplicável nicho em que estivera encalhado,
Se os terrestres algum dia voltassem ali (quando? dali a um milhão de anos?), deparariam com uma atmosfera de nitrogênio/oxigênio e uma flora limitada estranhamente reminiscente das plantas terrestres.
As cruzes envelheceriam e apodreceriam; o metal enferrujaria e se decomporia. Os ossos talvez se fossilizassem e se conservassem para dar uma ideia do que havia acontecido. As próprias gravações deles, seladas e guardadas, talvez fossem encontradas.
No entanto, nada disso importava. Se nada, absolutamente, chegasse a ser encontrado, o próprio planeta, o planeta inteiro, seria o monumento deles.
Então Petersen deitou.se para morrer entre a vitória deles.
Fred Pohl modifica os títulos com maior frequência do que a maioria dos editores e, em alguns casos, leva-me à distração agindo assim. Neste caso, embora o meu título fosse “A Última Ferramenta” (“The Last Tool”), uma vez mais o editor modificou-o para melhor, de modo que mantive “Foram os Pais”. (Detesto que Fred mude para melhor, mas ele não para de fazê-lo.)
Em 1967 completavam-se dez anos desde que eu havia pendido para a não-ficção e também dez anos desde que eu havia vendido alguma coisa a John Campbell.
John estava caminhando para seus trinta anos como editor de Astounding. No entanto, no início de 1960, ele mudou o nome de Astounding para Analog, e nunca mais inseri ficção na revista com a nova denominação.
Então escrevi “Exílio no Inferno” (Exile to Hell) e enviei a John. Ele aceitou-o — graças a Deus — e foi um grande prazer aparecer novamente nas páginas da revista, no número de maio de 1968, ainda que com uma história muito curta.
Exílio no inferno
— Antes de se fazerem viagens espaciais, os russos — dizia Dowling, com voz bem marcada — costumavam mandar prisioneiros para a Sibéria. A França mandava-os para a Ilha do Diabo e, os britânicos, de navio para a Austrália.
Contemplou cuidadosamente o tabuleiro de xadrez e sua mão hesitou um pouco sobre o bispo.
Parkinson, do outro lado do tabuleiro, observava distraidamente o parceiro de jogo. O jogo de xadrez era, obviamente, o jogo profissional de programadores de computadores, mas, naquelas circunstâncias, faltava-lhe o entusiasmo. Decerto, pensou algo aborrecido, Dowling estaria em pior situação do que antes; estava fazendo a programação do processo.
É claro, havia tendência de o programador assumir as características representadas pelo computador — impassibilidade, impenetrabilidade a qualquer coisa, que não a lógica. Dowling refletia isso no cabelo repartido com exatidão e na comedida elegância do vestuário.
Parkinson, que preferia programar a defesa dos processos em que estava envolvido, preferia também mostrar-se deliberadamente negligente nos aspectos secundários de seu traje
Perguntou:
— Você afirma que o exílio é uma punição bem estabelecida e por isso não há nele nenhuma crueldade especial.
— Não, é de uma crueldade especial, mas por outro lado é uma boa instituição, e tornou-se nos dias de hoje um perfeito meio de intimidação.
Dowling moveu o bispo sem erguer os olhos. Parkinson, involuntariamente, fê-lo.
Naturalmente, não podia ver coisa alguma. Estavam dentro de casa, no confortável mundo moderno planejado para satisfazer as necessidades humanas, cuidadosamente protegido contra o agressivo ambiente. Lá fora, a noite costumava ser iluminada com seu brilho.
Quando fora a última vez que o tinham visto? Não por muito tempo. Ocorreu-lhe imaginar que fase era agora? Cheia? Reluzente? Ou estava em sua fase crescente? Seria um reluzente minguante de luz fraca no céu?
Por certo, deveria ser uma vista encantadora. Havia sido, em certa ocasião. Mas havia sido há séculos, antes que a viagem pelo espaço se tornasse coisa comum e barata, e antes que o ambiente ao redor deles se tornasse sofisticado e controlado. Atualmente, a encantadora luz do céu se transformara em nova e mais horrível Ilha do Diabo suspensa no espaço. — Nem se mencionava mais o nome, de tanta aversão. Era “Ela”. Ou mesmo menos do que isso, apenas um silêncio, apenas um movimento superior da cabeça.
Parkinson disse:
— Você deveria ter-me permitido que programasse o processo contra o exílio, de um modo geral.
— Por quê? Não poderia ter afetado o resultado.
— Este não, Dowling, mas poderia ter afetado processos futuros. Punições futuras poderiam ser comutadas para a pena de morte.
– Para alguém acusado de danos ao equipamento? Está delirando!
— Foi um ato de fúria cega. Admito que havia a intenção de causar mal a um ser humano, mas não havia o propósito de causar danos ao equipamento.
— Nada! Não significa nada. Falta de intenção não é desculpa em tais casos. Você sabe disso.
— Devia ser uma desculpa. É o ponto que eu queria esclarecer.
Parkinson avançou um peão para proteger um cavalo.
Dowling ponderou:
— Você está tentando insistir no ataque à rainha, Parkinson, e não vou permitir... Vejamos, então –. e, enquanto refletia, disse: — Não vivemos na era primitiva, Parkinson. Vivemos num mundo superlotado, que não admite equívocos. Uma coisa tão insignificante como um fusível queimado poderia pôr em risco uma considerável fração de nossa população. Quando a fúria põe em risco e subverte uma linha de transmissão de força, trata-se de algo muito sério.
— Não duvido...
— Parece que é o que estava fazendo, quando estava elaborando o programa de defesa.
— Não estava. Ouça, quando o foco de raio laser de Jenkins penetrou na cerca do Campo, eu mesmo estive muito perto da morte como qualquer outra pessoa. Uma demora de mais um quarto de hora teria significado meu fim e estou perfeitamente consciente disso, O meu parecer é que o exílio não é punição adequada!
Para dar ênfase ao que dizia, bateu as pontas dos dedos no tabuleiro e Dowling segurou a rainha antes que tombasse:
— Ajustando, não movendo — resmungou.
Os olhos de Dowling vagaram de peça em peça. Continuava titubeante:
— Está enganado, Parkinson. É a punição adequada, porque não existe coisa pior e serve perfeitamente para um crime para além do qual não pode haver coisa pior. Ouça, todos sentimos uma dependência absoluta a uma tecnologia complexa e algo frágil. Um enguiço poderia matar-nos, não importa se é deliberado, acidental ou causado por incompetência. Os seres humanos exigem que se aplique a pena máxima por tais feitos, como única garantia de sua segurança. A simples morte não é intimidação suficiente.
— É, sim. Ninguém quer morrer.
— Muito menos viver no exílio lá em cima. Por esta razão tivemos apenas um caso igual a este, nos últimos dez anos, e somente um exílio — lá vai! Saia dessa! — E Dowling empurrou a torre da rainha para uma casa à direita.
Acendeu-se uma luz. Parkinson levantou-se imediatamente. — A programação está terminada. O computador vai dar seu veredito agora.
Dowling ergueu os olhos fleugmaticamente:
— Não tem nenhuma dúvida quanto ao veredito, pois não? — Deixe o tabuleiro como está. Terminaremos mais tarde.
Parkinson tinha absoluta certeza de que não teria entusiasmo para continuar a jogar. Como sempre, com passos leves e ligeiros, rumou para o corredor que levava à sala do tribunal.
Pouco depois de ele e Dowling terem entrado, o juiz ocupou sua cadeira e em seguida entrou Jenkins, ladeado por dois guardas.
Jenkins estava desfigurado, mas impassível. Desde o dia em que um acesso de fúria o havia subjugado e acidentalmente havia deixado uma área em indevassável escuridão, ao tentar agredir um companheiro de trabalho, deveria estar sentindo as consequências inevitáveis do pior de todos os crimes. O que ajuda a não nutrir ilusões.
Mas Parkinson não estava impassível. Não se atrevia a olhar Jenkins de frente. Não podia deixar de fazê-lo, sem imaginar, com pesar, o que havia passado pelo espírito de Jenkins no momento. Estaria absorvendo, através de cada um dos sentidos, todas as perfeições do conforto familiar, antes de ser lançado para sempre dentro do Inferno luminoso que percorria o céu noturno?
Estaria deliciando-se com o ar limpo e agradável em suas narinas, as luzes amenas, a temperatura uniforme, a água à disposição, a segurança dos arredores, desenhados para embalar a humanidade em doce conforto?
Ao passo que lá em cima...
O juiz apertou um contato e a decisão do computador converteu-se no som melífero e impessoal de uma voz humana padronizada.
“A avaliação de todas as informações pertinentes à luz da lei da Terra e de todos os precedentes relevantes, conduz à conclusão de que Anthony Jenkins é culpado sob todos os aspectos do crime de danos a equipamentos e passível de pena máxima.”
Havia apenas seis pessoas na sala do tribunal, mas a população inteira estava assistindo pela televisão, é lógico.
O juiz falou em ordenada fraseologia:
— O acusado será levado daqui para o espaçoporto mais próximo e no primeiro veículo de transporte disponível será removido deste planeta e mandado para o exílio pelo restante de sua vida natural.
Jenkins pareceu sentir um tremor nas entranhas, mas não proferiu uma só palavra.
Parkinson estremeceu. Quantos, pensou de si para consigo, sentirão agora a monstruosidade de tão horrível punição para qualquer crime? Quanto tempo, antes que houvesse suficiente sentido de humanidade entre os homens para acabar para sempre com a punição pelo exílio?
Alguém seria capaz de imaginar Jenkins lá em cima, no espaço, sem sentir um abalo? Seriam as pessoas capazes de imaginar e sustentar a ideia de um semelhante jogado para toda a sua vida entre a população hostil, estranha, perversa de um mundo de calor insuportável durante o dia e frio glacial durante a noite: um mundo em que o céu era de um azul gritante e o chão de uma cor verde ainda mais brutal e chocante; onde o ar poeirento se deslocava com rouco rumor e o mar viscoso se agitava perenemente?
E a gravidade, aquela eterna, forte, forte e forte atração!
Quem conseguia suportar o horror de condenar alguma pessoa, qualquer que fosse a razão — a deixar o lar amigo na Lua por aquele Inferno no céu — a Terra?
Considerando o que John Campbell significa para mim, detesto ressaltar quaisquer defeitos nele como editor — mas ele era um terrível redator de resumos. Naqueles pequenos comentários editoriais no início de uma história — os comentários que deviam convencer as pessoas a lê-las — ele com frequência revelava o ponto mais importante da história, quando o escritor estava fazendo o máximo para ocultá-lo até o momento oportuno.
Aqui está o resumo, feito por John, para “Exile to Hell” — “Exílio no Inferno”: “O Inferno é, naturalmente, o pior lugar imaginável que alguém gostaria de ser forçado a experimentar. É uma atitude com respeito a um dado lugar.. Fiji para um esquimó, Ilha Baffin para um polinésio...”
Se alguém ler primeiramente o comentário e em seguida ler minha história, “Exílio no Inferno”, sentirá a mesma emoção que sente um fio molhado de espaguete.
Como a aridez da ficção científica se intensificou, tornou-se importante para mim não permitir que nenhum artigo fosse desperdiçado.
Um amigo meu, Ed Berkeley, dirigia um pequeno periódico dedicado a computadores e automação. (Denominava-se mesmo Computers and Automation, se bem me lembro.) Em 1959, pediu-me que lhe escrevesse uma pequena história, em nome da amizade, e, uma vez que sempre tive dificuldades em recusar-me a fazer qualquer coisa que me fosse proposta nestes termos, escrevi “Ponto Chave” (“Key Item”), pela qual me pagou um dólar — mas jamais a imprimiu.
Passaram-se oito anos e finalmente perguntei-lhe: “Hei, Ed, o que aconteceu à minha história “Key Item”? — e ele me informou que resolvera não publicar ficção científica.
— Então, me dê de volta — eu disse-lhe.
— Bem, quer usá-la?
Sim, eu queria usá-la. Enviei-a à S & SF. Eles a aceitaram e a publicaram naquela revista de julho de 1968.
Ponto chave
Jack Weaver saiu do âmago do Multivac parecendo muito cansado e desgostoso.
Do tripé, onde o outro mantinha a sua disparatada vigília, Todd Nemerson perguntou:
— Nada?
— Nada — respondeu Weaver. — Absolutamente nada. — Ninguém consegue achar nada errado nele.
— Exceto que não quer funcionar, quer você dizer.
— Você não ajuda nada sentado aí.
— Estou pensando.
— Pensando! — Weaver arreganhou um canino de um lado da boca.
Nemerson mexeu-se inquietamente no banquinho:
— Por que não? Há seis equipes de tecnólogos de computadores andando pelos corredores do Multivac. Em três dias, ainda não apresentaram nada. Não pode permitir que uma pessoa pense?
— Não é uma questão de pensar. Temos de verificar. Um relê está encrencado em algum lugar.
— Não é assim tão simples, Jack!
— Quem disse que é simples? Sabe quantos milhões de relês temos ali?
— Não vem ao caso. Se se tratasse apenas de um relê, o Multivac teria circuitos alternativos, instrumentos para focalizar o defeito e instalações para reparar ou substituir a parte defeituosa, O problema é que o Multivac não só se recusa a responder à pergunta original, como se recusa a dizer o que se passa com ele. — Enquanto isso, haverá pânico na cidade inteira, se não fizermos alguma coisa. A economia do mundo depende do Multivac, e todos sabem disso.
- Eu também sei.Mas o que fazer?
— Já lhe disse: pense. Há alguma coisa que nos está passando completamente despercebida. Veja, Jack, não houve nenhum técnico importante em uma centena de anos que não se tenha dedicado a tornar o Multivac mais complicado. Ele pode fazer muitas coisas atualmente — diabos, pode até mesmo falar e ouvir. Praticamente é tão complexo como o cérebro humano. Se não podemos compreender o cérebro humano, por que haveríamos de compreender o Multivac?
— Oh, vamos. Em seguida, vai dizer que o Multivac é humano.
— Por que não? — Nemerson ensimesmou-se ainda mais e pareceu fechar-se em si mesmo. — E, por falar nisso, por que não? Seríamos capazes de dizer se o Multivac cruzou a fina linha divisória em que deixa de ser uma máquina e passa a ser humano? E, por falar nisso, existe tal linha divisória? Se o cérebro é mais complexo do que o Multivac e continuamos a fazer o Multivac mais complexo, não há um ponto em que... — ele continuou resmungando até ficar calado.
Weaver disse, nervosamente:
— O que está sugerindo? Supondo que o Multivac é humano. De que modo isso nos ajudaria a descobrir o que não está funcionando?
— Talvez uma razão humana. Suponhamos que lhe perguntassem qual o mais provável preço para o trigo no próximo verão e você não respondesse. Por que não responderia?
— Porque eu não saberia. — Mas o Multivac costuma saber! Já lhe demos todos os dados. Ele pode analisar o futuro em termos de meteorologia, política e economia; sabemos que pode. Já o fez anteriormente.
— Muito bem. Suponhamos que me faço a pergunta, você sabe a resposta mas não ma quer dizer. Por que não?
Weaver vociferou:
— Porque tenho um tumor no cérebro. Porque levei uma pancada na cabeça. Porque estava bêbado. Ora bolas, porque meu mecanismo estava fora de ordem. E é exatamente o que estamos tentando descobrir a respeito do Multivac. Estamos procurando o lugar onde está o enguiço do mecanismo, para encontrarmos o ponto chave -
— Só que não o encontrou — Nemerson desceu do banquinho. — Ouça, faça-me a pergunta que o Multivac protelou.
— Como? Terei que rodar a fita até o fim para você?
— Vamos, Jack. Dê-me a conversa associada a ela. Você conversa com o Multivac, não conversa?
— Tenho que conversar. Terapia.
Nemerson assentiu, balançando a cabeça:
— Sim, esta é a história. Terapia. É a história oficial. Conversamos com ele, fingindo que se trata de um ser humano, a fim de não ficarmos neuróticos por termos uma máquina que sabe mais do que nós. Transformamos um assustador monstro metálico em uma imagem de pai protetor.
— Se prefere ver as coisas assim...
— Bem, isto é errado, e você o reconhece. Um computador tão complexo como o Multivac deve falar e escutar para ser eficiente. Introduzir e retirar fitas codificadas não é suficiente. A um certo nível de complexidade, o Multivac precisa ser levado a parecer humano porque, por Deus, ele é humano. Vamos, Jack, formule a questão. Quero ver a minha reação a ela.
Jack Weaver corou:
— É uma bobagem.
— Por favor, vá em frente!
Devido a uma certa depressão e desespero, Weaver acedeu. Meio mal humorado, simulou estar alimentando o Multivac com a programação, conversando da maneira habitual, enquanto o fazia. Fez comentários sobre as últimas informações a respeito da intranquilidade no meio rural, conversou sobre as novas equações que descreviam contorções nos motores a propulsão, fez conferências sobre os fatores constantes do sistema solar.
Principiou algo rigidamente, mas, em seguida, mercê do prolongado hábito, entusiasmou-se pela tarefa e quando, enfim, terminou o que restava dela, quase fechou o contato com um beliscão físico na cintura de Todd Nemerson.
Finalizou alegremente:
— Muito bem. Agora resolva o problema e nos dê a resposta imediatamente.
Tendo terminado, Jack Weaver permaneceu em pé, parado, por instantes, as narinas dilatadas, como se estivesse sentindo mais uma vez a emoção de pôr em ação a mais gigantesca e gloriosa máquina já montada pela mente e mãos dos homens.
Em seguida, voltou a si e murmurou:
— Certo, é isto.
Nemerson disse:
— Bem, pelo menos sei agora por que eu não responderia. Vamos então experimentar com o Multivac. Preste atenção, limpe o Multivac, providencie para que os investigadores não ponham as mãos nele. Em seguida, rode a programação nele e deixe-me conduzir a conversa. Uma só vez.
Weaver encolheu os ombros e voltou-se para o painel de controle do Multivac, acionou os dials e ligou as luzes fracas e alertas. Aos poucos foi esvaziando-o. Ordenou a cada uma das equipes que saísse.
Então, respirando profundamente, começas a alimentar o Multivac. Ao todo, era a décima segunda vez. Uma dúzia de vezes. Em algum lugar, um distante noticiarista estaria espalhando a notícia de que estavam tentando mais uma vez. Em toda parte do mundo, o povo dependente do Multivac estaria retendo coletivamente a respiração.
Nemerson falava, enquanto Weaver fornecia silenciosamente os dados. Falava desconfiadamente, tentando lembrar-se do que Weaver havia dito, mas aguardando o momento em que seria adicionado o ponto chave.
Weaver havia terminado e então houve um quê apreensivo na voz de Nemerson, que disse:
— Vamos lá, Multivac, solucione isto e dê-nos a resposta — fez uma pausa e acrescentou o ponto chave. Insistiu: — Por favor!
E, de repente, todo o Multivac, as válvulas e relês começaram gloriosamente a funcionar. Afinal de contas, uma máquina tem sentimentos — quando não é mais uma máquina.
A propósito, a história não parou na F & SF.
The Saturday Evening Post havia encerrado suas atividades em 1966, pouco depois de publicar em série minha novela Viagem Fantástica (Fantastic Voyage), embora eu não julgasse que havia qualquer conexão entre os fatos. Contudo, ele voltou à atividade e os editores interessaram-se por algumas de minhas histórias. Reimprimiram “Uma Estátua para Papai” (“A Statue for Father”) e também ‘Ponto Chave” (“Key Item”), sob o título “O Computador que Entrou em Greve” (“The Computer that went on Strike”), no número da primavera de 1972.
Revistas mais sofisticadas passaram então a se interessar pelos contos de ficção científica. Não era somente The Saturday Evening Post que andava atrás de meus contos. Boys’Life também. Enviaram-me uma gravura, contando inspirar-me a compor uma história. Tentei. Produzi “O Estudo Apropriado” (“The Proper Study”), que saiu no número de setembro de 1968 da revista Boys ‘Life.
O estudo apropriado
— Está pronta a demonstração — murmurou Oscar Harding com seus botões, quando o telefone tilintou para avisar que o general estava a caminho do andar superior.
Ben Fife, o jovem sócio de Harding, enfiou os punhos até o fundo do bolso do avental do laboratório.
— Não chegaremos a lugar algum — disse. — O general não muda de ideia — olhou de soslaio o perfil agudo do homem mais velho, as bochechas murchas, o cabelo grisalho escasso. Harding talvez fosse um mago em matéria de equipamento eletrônico, mas não parecia capaz de entender que espécie de homem era o general,
Harding disse calmamente:
— Oh, nunca se sabe!
O general bateu à porta uma vez, mas somente para exibição. Entrou rapidamente, sem esperar qualquer resposta. Dois soldados tomaram posição no corredor, um de cada lado da porta, os rostos para a frente, os rifles prontos.
O General Gruenwald disse vivamente:
— Professor Harding!
Balançou a cabeça rapidamente na direção de Fife e, em seguida, observou por instantes o outro indivíduo que estava na sala. Era um homem de rosto inexpressivo, sentado à parte, numa cadeira de encosto reto, semiobscurecido pelo equipamento circundante.
Tudo no general era bem definido: seu jeito de andar e de manter-se ereto, a maneira de falar. Todo ele era linhas e ângulos retos, aderindo rigidamente, em todos os aspectos, à etiqueta do soldado nato.
— Não quer se sentar, general? — murmurou Harding. — Muito obrigado. Foi bom ter vindo; faz algum tempo que estou tentando avistar-me com o senhor. Reconheço o fato de que o senhor é um homem muito ocupado
— Uma vez que sou tão ocupado — disse o general — vamos logo ao que interessa.
— Tanto quanto puder, senhor. Suponho que está a par do nosso projeto. Conhece o “Neurofotoscópio”?
— O seu projeto de alto segredo? É claro. Meus assessores para assuntos científicos dão o melhor de si para manter-me informado. Mas não faço objeção a algum esclarecimento adicional. O que deseja?
O caráter repentino da pergunta fez Harding pestanejar. Disse então:
— Para ser breve... desclassificação. Quero que o mundo saiba que...
— Por que quer que o mundo saiba alguma coisa?
— A “Neurofotoscopia” é um importante problema, senhor. É de enorme complexidade. Desejaria que cientistas de todas as nacionalidades trabalhassem nisto.
— Não, não. Já examinamos isso diversas vezes. A descoberta é nossa e conservá-la-emos.
— Permanecerá uma descoberta muito pequena se ficar conosco. Permita-me explicar mais uma vez.
O general consultou seu relógio.
— Será completamente inútil.
— Tenho um novo assunto. Uma nova demonstração. Uma vez que veio aqui, general, não quer escutar-me por alguns minutos? Omitirei detalhes científicos tanto quanto possível e direi apenas que os potenciais elétricos variáveis das células cerebrais podem ser gravados em forma de minúsculas e irregulares ondas.
— Eletroencefalogramas. Sim. Sei disso. Há séculos que os temos. E sei o que fazem com eles.
— Hã... sim. — Harding ficou mais sério: — As próprias ondas cerebrais transmitem suas informações de modo excessivamente compacto. Fornecem-nos o total de complexas modificações de uma centena de bilhões de células cerebrais de uma só vez. Minha descoberta consiste num método prático de convertê-las em padrões coloridos.
— Com o seu “Neurofotoscópio” — disse o general, apontando com um dedo. — Como vê, reconheço a máquina — cada fita de campanha e medalha em seu peito estavam no lugar apropriado, separadas por milímetros.
— Sim, o “escópio” produz efeitos coloridos, autênticas imagens que parecem encher o ar e mudar rapidamente. Podem ser fotografadas e são lindas.
— Já vi as fotografias — disse o general friamente.
— Já viu a coisa genuína em ação?
— Uma vez ou duas. Vocês estavam lá na ocasião.
— Oh, sim — o professor estava confuso. Disse: — Mas não viu este homem; nosso novo paciente — apontou rapidamente para o homem na cadeira; um indivíduo de queixo pontudo, nariz comprido, nenhum vestígio de cabelos no crânio, e com um perene vazio nos olhos.
— Quem é? — perguntou o general,
— O único nome que temos para ele é Steve. É mentalmente retardado, mas produz os mais intensos padrões que já encontramos até hoje. Por que é assim, não sabemos. Se tem algo a ver com a sua mentali...
— Tem intenção de mostrar-me o que ele faz? — interrompeu o general.
— Se quiser assistir, general — Harding fez um gesto com a cabeça a Fife, que entrou em ação imediatamente,
O paciente, como sempre, observava Fife com brando interesse, fazendo o que lhe ordenavam, sem opor resistência, O leve capacete plástico ajustava-se confortavelmente na cabeça raspada e cada um dos complexos eletrodos estava devidamente instalado. Fife tentou operar devagar sob a tensão incomum da ocasião. Sentiu uma certa agonia, com receio de que o general olhasse as horas novamente e saísse.
Afastou-se ofegante:
— Posso ativá-lo agora, Professor Harding?
— Sim, agora,
Fife ligou um contato, com cuidado, e no mesmo instante o ar sobre a cabeça de Steve pareceu encher-se de uma coloração brilhante. Apareceram círculos após círculos, uns dentro dos outros, girando, rodopiando e separando-se.
Fife sentiu clara sensação de desassossego, mas continuou nervosamente com a experiência. Eram as emoções de Steve, o paciente, não as suas. O general deve ter sentido o mesmo, porquanto se mexeu na cadeira e pigarreou altamente,
Harding disse com naturalidade:
— Os padrões não contêm mais informações do que as ondas cerebrais, mas são estudados e analisados com maior facilidade. É como colocar germes sob um microscópio muito poderoso. Nada de novo é acrescentado, mas o que existe pode ser visto mais facilmente.
Steve estava ficando cada vez mais inquieto. Fife podia sentir que a presença austera e pouco simpática do general era a causa da inquietação. Muito embora Steve não mudasse de posição, nem mostrasse qualquer sinal exterior de medo, as cores do padrão de sua mente ficavam cada vez mais violentas, e dentro dos círculos exteriores havia conflitantes entrelaçamentos.
O general ergueu a mão como para afastar as tremeluzentes luzes.
Perguntou:
— A que monta tudo isso, Professor?
— Com Steve, podemos dar um pulo à frente muito mais depressa. Já aprendemos maia em dois anos, desde que idealizei o primeiro “escópio” do que em cinquenta anos antes dele. Com Steve e outros como ele e com a ajuda de outros cientistas do mundo, talvez...
— Fui informado que pode usar essa máquina para alcançar outras mentes — disse o general rispidamente.
— Alcançar outras mentes? — Harding refletiu por instantes. — Fala de telepatia? É exagerar um pouco. As mentes são demasiado diferenciadas para isso. Os pormenores mais sutis do seu modo de pensar não são iguais aos meus ou de qualquer outra pessoa e padrões cerebrais grosseiros não se combinam. Temos de traduzir as ideias em palavras, uma forma muito mais rude de comunicação e mesmo assim ainda é muito difícil que os seres humanos consigam contatar-se.
— Não me refiro à telepatia! Falo de emoções! Se o paciente se enfurece, o receptor pode ser levado a experimentar fúria, certo?
— É uma maneira de dizer.
O general estava visivelmente agitado:
— Aquelas coisas... acolá... — o dedo apontou os padrões, que naquele momento desenhavam redemoinhos muito desagradáveis.
— Podem ser usados para controlar emoções. Com eles, transmitidos pela televisão, populações inteiras poderiam ser manipuladas emocionalmente. Podemos permitir que tamanho poder caia em mãos erradas?
— Se fosse tamanho poder — disse Harding serenamente — não haveriam mãos certas.
Fife fechou o cenho. Era um comentário perigoso. De vez em quando Harding parecia esquecer-se de que os velhos tempos da democracia tinham acabado.
Mas o general prosseguiu sem qualquer cerimônia — disse:
— Não tinha conhecimento de que tinham avançado tanto. Não sabia que tinham este... Steve. Vocês arranjem outros como ele. Enquanto isto, o Exército se apodera disso. Completamente!
— Espere, general. Apenas uns dez segundos — Harding voltou- se para Fife. — Por favor, Ben, dê o livro a Steve.
Fife o fez alegremente. O livro era um novo volume caleidoscópico que narrava histórias por meio de fotografias coloridas que se mexiam e se modificavam a partir do momento em que o livro era manuseado. Era uma espécie de desenho animado encadernado. Steve sorriu ao estender as mãos, ansiosamente, para apanhá-lo.
Quase no mesmo instante, os padrões coloridos que se aglomeravam em cima do capacete plástico mudaram de natureza. Os redemoinhos perderam velocidade e as cores ficaram mais suaves. Os desenhos dentro do círculo tornaram-se menos discordantes.
Fife deu um suspiro de alivio e deixou que a cordialidade e a descontração se apossassem dele.
Harding disse:
— General, não permita que a possibilidade de controle de emoções o alarme. O “escópio” oferece menores possibilidades disso do que o senhor imagina. Certamente, há homens cujas emoções podem ser manipuladas, mas o “escópio” não é necessário para eles. Eles reagem despercebidamente a palavras, música, uniformes capciosos; reagem praticamente a qualquer coisa. Um dia, Hitler controlou a Alemanha mesmo sem a ajuda da televisão, e Napoleão controlou a França sem a ajuda do rádio ou dos jornais de grande circulação entre o povo. Os “escópios” não apresentam nada de novo.
— Não creio nisso — resmungou o general, mas pôs-se novamente meditabundo.
Steve fitou atentamente o volume caleidoscópico. Os desenhos sobre a cabeça haviam praticamente deixado de rodopiar e passaram a formar círculos agradavelmente coloridos e entrelaçados que pulsavam de alegria.
A voz de Harding saiu quase suplicante:
— Há sempre pessoas que resistem ao conformismo; não seguem os padrões usuais e são os mais importantes numa sociedade. Não concordam com os padrões coloridos nem com qualquer outra forma de persuasão. Assim sendo, por que preocupar-se com o recurso inútil do controle das emoções? Ao invés disso, encaremos o “neurofotoscópio” como o primeiro instrumento através do qual as funções mentais podem ser verdadeiramente analisadas. É o que nos deve preocupar, acima de tudo, O estudo apropriado da humanidade está no homem, como afirmou certa ocasião o Papa Alexandre; e o que é o homem, senão o seu cérebro?
O general continuava calado.
— Se conseguíssemos descobrir o modo de funcionamento do cérebro — prosseguiu Harding — e compreender, finalmente, o que faz do homem um homem, estaríamos a caminho de nos compreendermos a nós mesmos, e não há nada mais difícil, ou mais meritório, do que olharmo-nos de frente. E como pode isso ser feito com um único homem num só laboratório? Como pode ser realizado em segredo e com medo? Todo o mundo da ciência deve cooperar. — General, retire o caráter confidencial do projeto! Ponha-o ao alcance de todos os homens!
O general concordou devagar:
— Acho que, afinal de contas, você tem razão.
— Eu tenho o documento apropriado. Se o senhor o assinar e selar com a sua impressão digital; se o senhor utilizar os dois guardas como testemunhas; se o senhor avisar a Comissão Executiva pelo circuito fechado de televisão; se o senhor...
E foi feito. Diante dos olhos atônitos de Fife, tudo foi feito.
Depois de o general sair, de se ter desmontado o “neurofotoscópio” e ter levado Steve aos seus aposentos, Fife finalmente conseguiu vencer o seu espanto o tempo suficiente para falar:
— Como é que ele foi persuadido com tanta facilidade, Professor Harding? Você já tinha explicado seu ponto de vista extensamente em uma dúzia de relatórios e nunca ajudou nem um pouco.
— Nunca os apresentei nesta sala, com o “neurofotoscópio” em funcionamento — disse Harding. — Antes, nunca tive ninguém tão intensamente projetivo como Steve. Muita gente impugna o controle das emoções, como afirmei, mas algumas pessoas não conseguem fazê-lo. Aqueles que têm tendência a ceder são mais facilmente levados a concordar com os outros. Joguei sobre o fato de que qualquer homem que se sente confortavelmente dentro de uma farda e que vive segundo a doutrina militar é passível de ser dominado, a despeito de quão poderoso imagine ser.
— Você quer dizer que...Steve...
— É claro. Deixei que o general primeiro sentisse aquela intranquilidade; em seguida, você entregou o livro a Steve e o ambiente encheu-se de felicidade. Você a sentiu, não sentiu?
— Sim, sem dúvida.
— O meu palpite era de que o general não conseguiria resistir à felicidade que se seguiu imediatamente à inquietude; e de fato não resistiu. Qualquer coisa pareceria boa, naquele momento.
— Mas ele superará isto, não acha?
— Eventualmente, suponho. Mas, e daí? Os relatórios-chave concernentes ao progresso do “neurofotoscópio” estão sendo enviados agora mesmo para todos os meios de divulgação do mundo. O general talvez pudesse barrá-los aqui, neste país, mas em outras partes, certamente não. — Não, ele terá que conformar com isto. A humanidade, enfim, pode dar inicio ao estudo sério e apropriado de si mesma.
A gravura consistia simplesmente de uma cabeça mal desenhada, circundada por uma.série de desenhos psicodélicos despropositados. Para mim, não significavam nada e passei por momentos horríveis tentando imaginar “O Estudo Apropriado”. Poul Anderson também escreveu unta história, apoiado na mesma gravura, e provavelmente não teve nenhum problema.
As duas histórias apareceram no mesmo número e suponho que poderia ser interessante compará-las para se tentar ter uma ideia dos diferentes produtos do cérebro de Poul e do meu — mas, como no caso de “Blank” (‘Vazio”), não poupei a outra história. Ademais, eu não quero que comparem cérebros. Poul é terrivelmente inteligente e vocês poderiam lançar-me ao rosto algumas duras verdades que eu prefiro não enfrentar.
No início de 1970, a IBM Magazine procurou-me com uma citação de J. B. Priestley que dizia o seguinte: “Entre meia-noite e o alvorecer, quando o sono se recusa a vir e todas as velhas feridas começam a doer, frequentemente tenho uma visão, em forma de pesadelo, do mundo vindouro no qual existem bilhões de pessoas, todas enumeradas e registradas, sem qualquer brilho de genialidade, sem espírito original, sem uma personalidade exuberante, em todo este mundo abarrotado”.
O editor da revista pediu-me que escrevesse um conto baseado na citação. Realizei o trabalho em fins de abril e enviei-o pelo correio. A história era “2430 DC” e nela levei muito a sério a citação de Priestley e tentei descrever o mundo de seus pesadelos.
A IBM Magazine devolveu-a. Disseram que não desejavam um conto que apoiasse a citação; queriam um que rebatesse a citação. Bem, nunca disseram isso.
Em circunstâncias comuns, eu teria ficado muito revoltado e teria escrito uma carta bem mordaz. No entanto, eu estava passando por momentos difíceis e um ponto crítico, muito triste, estava surgindo novamente em minha vida.
Meu casamento havia vacilado durante anos e finalmente desmoronou. Em 3 de julho de 1970, quando o vigésimo oitavo aniversário de casamento estava quase à porta, saí de casa e fui para Nova Iorque. Aluguei uma suíte de hotel, de dois cômodos, a qual eu utilizaria como estúdio durante aproximadamente cinco anos.
Não se pode empreender tal tipo de modificação sem toda sorte de problemas, misérias e sentimentos de culpa. Dentre todos eles, sendo o que sou, um dos problemas enquanto estava sentado nos cômodos da suíte, ainda não tendo recebido a minha biblioteca de consulta, era se eu ainda teria condições para escrever.
Lembrei-me então de minha história “2430 DC”, que, ordinariamente, teria abandonado mercê de minha revolta. No entanto, apenas para ver se conseguia escrever, principiei outra história, a 8 de julho de 1970, cinco dias após a mudança — uma história que refutaria a citação de Priestley. Intitulei-a “O maior dos Trunfos” (“The Greatest Asset”).
Despachei-a para a IBM Magazine, e você jamais acreditará em mim, mas, depois de lerem a segunda história, resolveram aceitar a primeira, afinal de contas. Senti-me completamente confuso. A segunda história era tão ruim que fez a primeira parecer boa? Ou eles mudaram de opinião antes de eu ter escrito a segunda e não encontraram um jeito de dizer-me? Desconfiei da segunda hipótese. De qualquer maneira, “2430 DC” foi publicada no número de outubro da IBM Magazine.
2430 d.C.
“Entre meia-noite e o alvorecer, quando o sono se recusa a vir e todas as velhas feridas começam a doer, frequentemente tenho uma visão em forma de pesadelo de um mundo vindouro no qual existem bilhões de pessoas, todas enumeradas e registradas, sem qualquer brilho de genialidade, sem espírito de originalidade, sem uma personalidade exuberante, em todo este mundo abarrotado’:
J. B. Priestley
— Ele falará conosco — disse Alvarez, quando o outro saiu pela porta.
— Ótimo — disse Bunting — a pressão social sem dúvida chegará até ele, eventualmente. Um cara excêntrico. Jamais saberei como escapou do ajustamento genético. — Mas você leva a conversa. Ele me irrita de tal forma que perco o tato.
Juntos percorreram o corredor ao longo da Trilha Executiva, que estava, como sempre, esparsamente ocupada. Poderiam perfeitamente ter tomado as faixas rolantes, mas eram apenas duas milhas de caminho e Alvarez gostava de andar, de forma que Bunting não insistiu.
Alvarez era alto e um tanto magro, o tipo da figura atlética que se costuma esperar de uma pessoa que se dedica a atividades musculares; uma pessoa que rotineiramente utiliza escadas e passadiços, por exemplo, quase ao ponto de ser considerada uma pessoa instável. Bunting, mais gordo e de contornos mais suaves, evitava até mesmo as lâmpadas de bronzeamento e era muito pálido.
Bunting disse soturnamente:
— Espero que nós dois sejamos o suficiente.
— Acho que sim. Vamos mantê-lo no seu setor, se pudermos.
— Sim, sabe, continuo pensando — por que tem de ser no nosso setor? Cinquenta milhões de milhas quadradas de setecentos níveis de espaço para viver, e tem de ser na nossa quadra de apartamentos.
— Uma grande distinção, de certo modo horrível — disse Alvarez.
Bunting fungou:
— E também para o nosso crédito — acrescentou Alvarez devagar — se resolvemos o assunto. Chegaremos ao cume, chegaremos ao fim, chegaremos à meta. Toda a humanidade. Conseguiremos.
Bunting se entusiasmou e disse:
— Acha que verão as coisas desse modo?
— Vamos providenciar para que o façam.
Os passos deles foram amortecidos na rocha de tessitura de plástico. Passaram por corredores entrecruzados e avistaram, a média distância, a multidão sem fim que estava na faixa rolante. Havia um cheiro fugaz de uma variedade de plâncton. Imediatamente, quase que por instinto, perceberam que além, bem além, havia um dos gigantescos condutos que os retiravam do mar. E, por simetria, sabiam que deveria haver outro conduto, tão grande quanto o primeiro, que entrava para o mar, lá embaixo.
O destino deles era uma sala habitável erguida bem no fundo do corredor, mas que parecia diferente dos milhões de salas pôr que tinham passado. Havia em torno dela uma nota intangível e desconcertante de espaço, porquanto de cada lado, numa extensão de centenas de pés, a parede estava vazia. E havia algo no ar.
— Sente o cheiro? — perguntou Bunting.
— Já senti o cheiro antes — disse Alvarez. — Não é humano.
— Literalmente! — disse Bunting. — Ele não espera que os examinaremos, pois não?
— Se espera, é muito simples recusar-nos a fazê-lo.
Fizeram sinais e esperaram em silêncio, enquanto o zumbido de vida infinita soava em torno deles de modo pronunciadamente desrespeitoso, pois o barulho estava sempre lá.
A porta abriu-se. Cranwitz estava à espera. Parecia de mau humor Usava a mesma roupa que todos trajavam; cinza, leve, simples. Nele, contudo, as roupas não caíam bem. Ele parecia desalinhado, com os cabelos excessivamente compridos, os olhos injetados de sangue movendo-se de um lado para outro, inquietamente.
— Podemos entrar? — perguntou Alvarez, com fria cortesia.
Cranwitz postou-se de um lado.
Era mais intenso o cheiro lá dentro. Cranwitz fechou a porta atrás deles e sentaram-se. Cranwitz permaneceu em pé, sem dizer palavra.
Alvarez perguntou:
— Devo perguntar-lhe, como funcionário do Setor de Representativos, tendo Bunting aqui como Vice-Representante, se está pronto a sujeitar-se às imposições sociais.
Cranwitz deu mostras de estar pensando. Quando finalmente falou, a voz saiu sufocada e teve que limpar a garganta.
— Não quero — disse. — Não devo fazê-lo. Há um contrato de longa duração com o Governo. Minha família sempre teve o direito de...
— Estamos a par disso e não existe a possibilidade de recorrermos à força — disse Bunting, exasperadamente. — Estamos pedindo que ceda voluntariamente.
Alvarez tocou levemente o joelho do outro:
— Deve compreender que a situação não é a mesma que no tempo de seu pai, ou mesmo, que não é o que foi no ano passado.
O queixo comprido de Cranwitz tremeu um pouco:
— Não vejo as coisas assim. A taxa de crescimento caiu este ano ao total registrado pelo computador e tudo se modificou convenientemente Isso ocorre de ano para ano. Por que este ano tem de ser diferente?
De certa forma, a voz não transmitia convicção. Alvarez tinha certeza de que ele sabia por que aquele ano era diferente, e disse calmamente:
— Este ano atingimos a meta. A taxa de natalidade igualou-se à taxa de mortalidade; o nível populacional está perfeitamente constante; a construção atual está completamente restrita à substituição; e as fazendas marítimas estão em condições estáveis. Somente você se ergueu entre toda a humanidade e a perfeição.
— Por causa de alguns ratos?
— Por causa de alguns ratos. E outras criaturas. Porquinhos-da-índia, coelhos. Algumas espécies de pássaros e lagartos. Ainda não realizei um censo...
— Mas são os únicos deixados em todo o mundo. Que dano podem causar?
— Que bem? — interpelou-o Bunting.
Cranwitz respondeu:
— O bem de estarem aqui para ser vistos. Houve um tempo em que...
Alvarez já tinha ouvido aquilo anteriormente. Disse, com o máximo de compreensão que conseguiu inserir à voz (para sua surpresa, com uma certa medida de genuína simpatia):
— Compreendo. Um tempo em quê! Há séculos! Havia vastos números de formas de vida como essas de que você gosta. E há milhões de anos existiram os dinossauros. Mas possuímos microfilmes de todas as coisas. Nenhum homem precisa ignorá-las.
— Como podem comparar microfilmes com coisas reais? — perguntou Cranwitz.
Os lábios de Bunting se retorceram:
— Microfilmes não têm cheiro.
— Antigamente havia muito mais animais — disse Cranwitz — ano após ano temos sido forçados a livrar-nos de muitos deles. Todos os animais grandes. Todos os carnívoros. As árvores. Não resta nada, apenas algumas pequenas plantas, minúsculas criaturas. Deixem-nas viver.
Alvarez disse:
— O que fazer com eles? Ninguém quer vê-los. A humanidade está contra você.
— Pressão social...
— Não conseguiríamos persuadir o povo contra uma verdadeira resistência. O povo não quer ver estas distorções da vida. Estão enjoados, estão mesmo. O que se pode fazer com eles? — a voz de Alvarez era insinuante.
Cranwitz então sentou-se. Uma certa disposição febril acentuou a cor de suas faces.
— Estive pensando. Algum dia sairemos daqui. A humanidade colonizará outros planetas. Quererão animais, O homem quererá outras espécies nesses mundos novos e desertos. Dará início a uma nova ecologia de variedades. Ele...
Suas palavras sumiram sob o olhar hostil dos outros dois. Bunting perguntou:
— Quais outros mundos iremos colonizar?
— Fomos à Lua em 1969 — disse Cranwitz.
— Exatamente, estabelecemos lá uma colônia e a abandonamos. Não existe um mundo em todo o sistema solar capaz de suportar a vida humana, sem uma engenharia proibitiva.
Cranwitz disse:
— São mundos que giram em torno de outras estrelas. Mundos semelhantes à Terra. Centenas de milhões deles. Deve haver.
Alvarez sacudiu a cabeça:
— Fora de alcance. Finalmente exploramos a Terra e enchemo-la de espécies humanas. Fizemos nossa escolha, e é a Terra. Não há margem para o tipo de esforço necessário para construir uma espaçonave capaz de cruzar anos-luz de espaço. Já empreendeu um estudo profundo da História do Século Vinte?
— Foi o último século de mundo livre — disse Cranwitz.
— Pois bem — tornou Alvarez secamente. — Espero que não o tenha romantizado excessivamente. Eu também estudei suas loucuras. O mundo estava vazio então, com apenas alguns bilhões, e julgavam-no superlotado e com boa razão. Gastavam mais da metade de seus recursos em guerras ou em preparativos para a guerra, administraram sem qualquer previsão a economia, desperdiçaram e envenenaram à vontade, deixaram que o puro acaso governasse as reservas genéticas, e toleraram toda modalidade de desvios de normas. Naturalmente, temiam o que denominavam explosão populacional e sonhavam alcançar outros mundos, como uma forma de fuga. Faríamos o mesmo sob tais condições.
— Não preciso contar-lhe a combinação de eventos e de progresso científico que mudou todas as coisas, mas permita-me relembrá-lo rapidamente, para o caso de estar se esquecendo. Houve o estabelecimento de um governo mundial, o desenvolvimento do poder atômico e o crescimento da arte de engenharia genética. Com paz planetária, abundância de energia e uma plácida humanidade, os homens poderiam multiplicar-se pacificamente e a ciência continuaria a multiplicação.
— Soube-se antecipadamente, com exatidão, quantos homens a Terra era capaz de comportar. Muitas calorias procedentes da luz solar alcançavam a Terra e, usando-as, apenas uma determinada quantidade de toneladas de gás carbônico poderia ser fixada cada ano, e apenas um certo número de toneladas de vida animal poderia ser sustentada por aquelas plantas. A Terra seria capaz de sustentar dois trilhões de toneladas de vida animal.
Cranwitz finalmente interrompeu-o:
— E todos estes dois trilhões de toneladas não poderiam ser humanos?
— Exatamente.
— Mesmo se isso implica eliminar toda a vida animal?
— A evolução é assim mesmo — disse Bunting, agastado. — Os aptos sobrevivem.
Alvarez mais uma vez tocou no joelho do outro:
— Bunting tem razão, Cranwitz — disse sem se alterar — os toleóstos substituíram os placodermes, que por sua vez substituíram os trilobites. Os répteis tomaram o lugar dos anfíbios, que por seu turno foram substituídos pelos mamíferos. Agora, por fim, a evolução alcançou o ponto máximo. A Terra carrega sua enorme população de quinze trilhões de seres humanos...
— Mas como? — bradou Cranwitz — vivem num vasto prédio que ocupa toda a superfície da terra ressequida, sem plantas e sem animais ao seu lado, com exceção dos que possuo aqui. E todo o oceano desabitado se transformou numa sopa de plâncton. Fazemos intermináveis colheitas em suas águas para dar alimento ao nosso povo; e estamos restaurando continuamente a matéria orgânica para alimentar o plâncton.
— Vivemos muito bem — disse Alvarez. — Não há guerra, não há crime. O nascimento é regulado, nossas mortes são tranquilas. Nossos bebês são geneticamente ajustados e existem atualmente na Terra vinte milhões de toneladas de cérebros normais; a maior quantidade concebível da mais complexa matéria imaginável no universo.
— E todo esse peso em cérebros fazendo o quê?
Bunting desabafou um audível suspiro de exasperação, mas Alvarez, sempre calmo, disse:
— Meu bom amigo, você confunde a jornada com o destino. Talvez seja o resultado do convívio com os seus animais. Quando a Terra se achava em processo de desenvolvimento, era necessário que a vida fizesse experiência e se arriscasse. Era mesmo meritório que fosse esbanjadora. Naquele tempo a Terra estava vazia. Havia espaço Infinito e a evolução tinha de experimentar com dez milhões de espécimes ou mais... até encontrar o espécime certo. — Mesmo após o aparecimento da humanidade, ela precisava aprender o caminho. E enquanto aprendia, tinha de correr riscos, tentar o impossível, ser tola ou louca. Mas agora a humanidade ocupou a casa. A humanidade lotou o planeta e precisa apenas fruir da perfeição.
Alvarez fez uma pausa a fim de que suas palavras calassem bem e então retomou:
— Nós a queremos, Cranwitz. A humanidade inteira deseja a perfeição. Foi em nossa geração que se alcançou a perfeição, e queremos a honra de tê-la conseguido. Os seus animais estorvam.
Cranwitz abanou a cabeça teimosamente:
— Eles ocupam muito pouco espaço, consomem pouquíssima energia. Se todos fossem mortos vocês teriam espaço para o quê? Para mais vinte e cinco seres humanos? Vinte e cinco em quinze trilhões
Bunting insistiu:
— Vinte e cinco seres humanos significam outros trinta e quatro quilos de cérebro humano. Em que medida — avaliar o que significam trinta e quatro quilos de cérebro humano?
— Mas vocês já têm bilhões de toneladas deles.
— Sei disso — disse Alvarez — mas a diferença entre perfeição e perfeição não-total é a mesma que há entre vida e vida não-total. Estamos pertinho, agora. A Terra toda está pronta para comemorar este ano 2430 depois de Cristo. É o ano em que o computador nos revela que o planeta está finalmente povoado; a meta foi alcançada; coroados todos os esforços da Evolução. Deixaremos de consegui-lo por causa de vinte e cinco — ainda que às custas de quinze trilhões. É uma falha muito, muito pequena, mas não deixa de ser falha.
— Pense, Cranwitz! Durante cinco milhões de anos a Terra tem esperado pelo momento de ser completada. Devemos esperar mais? Não podemos nem devemos forçá-lo, mas, se ceder voluntariamente, será um herói perante todas as pessoas.
Bunting disse:
— Isso mesmo. Em todo o tempo futuro os homens dirão que Cranwitz agiu e que, com um simples ato, conseguiu-se a perfeição.
E Cranwitz retrucou, imitando o tom de voz do outro:
— E os homens dirão que Alvarez e Bunting o persuadiram a agir assim!
— Se conseguirmos — disse Alvarez, sem dissimular na voz a preocupação: — Diga-me, Cranwitz, pode opor-se para sempre à vontade esclarecida de quinze trilhões de pessoas? Sejam quais forem os seus motivos — e reconheço que, a seu próprio modo, você é um idealista — pode negar a tantos este pedacinho de perfeição?
Cranwitz baixou os olhos, silencioso, e a mão de Alvarez acenou de leve na direção de Bunting. Este não proferiu palavra. O silêncio permaneceu enquanto os minutos lentos se passavam.
Então Cranwitz sussurrou:
— Posso passar mais um dia com os meus animais?
— E depois?
— Depois não me erguerei entre a humanidade e a perfeição.
Alvarez disse:
— Eu farei com que o mundo tome conhecimento disso. Seu nome será exaltado.
Em seguida ele e Bunting saíram.
Nos vastos prédios continentais aproximadamente cinco trilhões de seres humanos dormiam placidamente; uns dois trilhões de seres comiam placidamente; meio trilhão fazia amor ternamente. Outros trilhões conversavam sem entusiasmo, ou cuidavam calmamente dos computadores, dirigiam veículos, ou estudavam a maquinaria, ou organizavam os microfilmes das bibliotecas, ou divertiam seus semelhantes. Trilhões foram dormir, trilhões despertaram e a rotina nunca variava.
A maquinaria trabalhava, fazia seus próprios testes, seus próprios consertos. A sopa de plâncton do oceano planetário aquecia-se ao sol e as células se dividiam, enquanto as dragas traziam-nas incessantemente às colheradas para cima, punham-nas para secar e milhões de toneladas eram transferidos para os transportadores e condutos que as levavam a cada uma das esquinas dos incontáveis edifícios.
Em cada esquina dos edifícios, detritos humanos eram ajuntados, irradiados e desidratados; cadáveres humanos eram triturados, tratados e secados, sendo o resíduo constantemente devolvido ao oceano. E enquanto estas coisas prosseguiam durante horas a fio, como havia acontecido por décadas e poderiam estar fadadas a acontecer por milênios sem fim, Cranwitz alimentava pela última vez seus animaizinhos, acariciava seu porquinho-da-índia, erguia uma tartaruga para fitar seus olhos incompreensíveis, apalpava com os dedos uma folha viva de capim.
Contou-os, todos eles repetidas vezes — as últimas coisas vivas da Terra, que nem eram humanos nem alimento para os humanos — e então queimou o chão em que as plantas cresciam e matou-as. Inundou com vapor apropriado as jaulas e as salas em que os animais se deslocavam e dentro em pouco já não se moviam e logo morriam.
O último deles se foi e agora entre a Perfeição e a Humanidade erguia-se apenas Cranwitz, cujos pensamentos sempre rebeldes destoavam da norma. Contudo, havia também os vapores para Cranwitz e ele não queria viver.
Depois, então, haveria realmente perfeição em toda a Terra, para todos os seus quinze trilhões de habitantes e para os vinte bilhões de toneladas de cérebros humanos. Com a ida de Cranwitz, não haveria um só pensamento discordante, nenhuma ideia incomum para perturbar a placidez universal que a singular nulidade da uniformidade havia finalmente conseguido.
Muito embora “2430 D.C?’ (“2430 A.D.”) tivesse sido publicada e eu recebido um pagamento realmente generoso por ela, os meus temores neuróticos não tinham sido acalmados. A história, que havia sido aceita, fora escrita enquanto eu ainda morava em Newton. A história que não havia sido aceita fora escrita em Nova Iorque.
Levei então “O Grande Trunfo” (“The Greatest Asset”) a John Campbell (estávamos então na mesma cidade, novamente, pela primeira vez em vinte e um anos) e contei-lhe a história do IBM Magazine. Informei-o que estava entregando a história que tinha sido recusada, mas que não o faria se ele olhasse com desprezo uma história que lhe era oferecida sob aquelas condições.
O velho e bom John encolheu os ombros e disse: — “Um editor não concorda necessariamente com outro”.
Leu-a e comprou. Não lhe falei de minha doida preocupação quanto a ser incapaz de escrever em Nova Iorque, porque envergonhava-me disso e John continuava a ser o sujeito magnífico diante do qual eu receava fazer o papel de imbecil. Contudo, ao aceitar o conto, acrescentou mais um favor aos muitos, mas muitos mesmo, que tinha feito por mim.
(Caso esteja preocupado, posso perfeitamente dizer a vocês que os meus anos em Nova Iorque até o presente momento têm sido mais prolíficos do que os de Newton. Permaneci 57 meses no meu estúdio de duas salas e publiquei neste período 57 livros.)
O grande trunfo
A Terra era um enorme jardim. Havia sido completamente cultivada. Lou Tansonia viu-a expandir-se aos seus olhos enquanto a observava sombriamente do veículo lunar, O nariz proeminente repartia- lhe o rosto em pequeninas partes que estavam sempre tristes — mas desta feita eram um reflexo perfeito do seu estado de espírito.
Nunca estivera ausente tanto tempo — quase um mês — e pressentia um período de adaptação não de todo agradável, quando a garra da gravidade terrestre se tornasse ferozmente evidente.
Mas aquilo ficava para mais tarde. Não era a tristeza que sentia ao observar a Terra ficar maior.
Contanto que o planeta estivesse suficientemente longe para ser visto como um círculo de espirais brancas, brilhando ao sol que resplandecia sobre as asas da espaçonave, a Terra possuía uma beleza prístina. Quando as áreas ocasionais de marrom-pastel e as variações de verde espreitavam através das nuvens, ainda podia ser o planeta que existia numa dada época, trezentos milhões de anos antes, quando a vida principiara a espalhar-se para fora do mar para ocupar as terras ressequidas e encher os vales de verde.
Foi quando a espaçonave começou à baixar, cada vez mais, que os sinais de cultivo começaram a se mostrar.
Não havia deserto em parte alguma. Lou jamais vira o deserto terrestre. Somente lera a respeito dele ou o vira em filmes antigos,
As florestas erguiam-se em renques exuberantes, com cada árvore cuidadosamente situada segundo a espécie e a posição. As lavouras cresciam em seus campos com ordenada rotação, com extirpação de ervas daninhas e fertilização automáticas e realizadas a espaços regulares. Os poucos animais domésticos que ainda existiam eram numerados e Lou tinha uma estranha desconfiança de que as folhas das touceiras de capim também o eram.
Os animais eram vistos tão raramente que, quando se conseguia um vislumbre deles, era uma sensação. Até mesmo os insetos tinham desaparecido, e nenhum dos animais grandes existia em qualquer parte, exceto nos museus que lentamente decresciam em número.
Cada vez havia menos gatos, pois era muito mais patriótico criar um criceto, se alguém fazia absoluta questão de ter uma mascote.
Correção! Somente a população não-humana da terra tinha diminuído. Sua massa de vida animal continuava grande como sempre, mas a maior parte dela, uns três quartos de seu total, consistia de uma só espécie: — Homo sapiens. E a despeito do que o Departamento Terrestre de Ecologia pudesse fazer (ou dizia que poderia fazer), a fração aumentava lentamente de ano para ano.
Lou lembrou-se disso, como sempre, com esmagadora sensação de perda. Decerto, a presença do humano era discreta. Não havia vestígios dela nos locais em que o veículo espacial completou a sua órbita em torno do planeta; e, Lou sabia, não haveria vestígios dela mesmo quando descesse ainda mais.
As extensas cidades dos caóticos dias anteplanetários tinham desaparecido. As velhas vias expressas podiam ser vistas do espaço através da marca que ainda estava assinalada na vegetação, mas tornavam-se invisíveis numa inspeção mais aproximada. Os homens, individualmente, raramente perturbavam a superfície, mas estavam lá, no subsolo. Toda a humanidade estava, em todos os seus bilhões, nas fábricas, nas usinas de processamento de alimentos, nas unidades de energia e nos túneis de vácuo.
O mundo civilizado vivia da energia solar e estava livre de contendas, e para Lou era um resultado detestável.
No entanto, no momento, quase conseguia esquecer que, após meses de fracasso, ele ia visitar Adrastus, o que significava lançar mão de toda influência possível.
Ino Adrastus era o Secretário Geral da Ecologia. Não era um cargo eletivo. Era pouco conhecido. Tratava-se simplesmente do mais importante posto na Terra, pois era o que controlava tudo,
Foi exatamente o que Jan Marley disse, sentado lá, com ar sonolento, distraído e desgrenhado que levava uma pessoa a pensar que ele seria gordo, se a dieta humana não fosse tão controlada para evitar a obesidade.
Disse:
— Por tudo o que considero sagrado, este é o posto mais importante da Terra, e parece que ninguém se compenetra disto. Quero deixar isto bem claro.
Adrastus encolheu os ombros. Seu corpo atarracado, a mecha de cabelos que já havia sido castanho-clara e que então adquirira pequenas manchas grisalhas, os olhos azuis-claros aninhados no rosto amorenado, algo enrugado, haviam sido uma parte modesta do cenário administrativo durante uma geração. Era Secretário Geral de Ecologia desde que os conselhos ecológicos regionais se tinham fundido para constituir o Departamento Terrestre. Os que o conheciam bem, compreendiam que era de todo impossível pensar em Ecologia sem ele.
Ele disse:
— A verdade é que dificilmente tomo uma decisão de iniciativa própria. Em verdade, as diretivas que assino não são minhas. Assino-as porque seria psicologicamente desconfortável entregá-las para serem assinadas pelo computador. Mas, como você sabe, somente os computadores podem fazer o trabalho.
— O Departamento ingere uma inacreditável quantidade de informações cada dia; informações que são enviadas de todas as partes do globo tratando não somente de natalidade e mortalidade humanos, alterações populacionais, produção e consumo, como também de; todas as modificações tangíveis na população animal e vegetal, para não falar das condições rítmicas dos mais importantes segmentos do ambiente — ar, mar e solo. As informações são tomadas à parte, absorvidas e assimiladas em índices que entram em memórias de arquivos cruzadas de espantosa complexidade, e dessa memória respostas para as questões por nós formuladas.
Marley comentou, com um olhar de soslaio muito arguto: — Respostas para todas as questões?
Adrastus sorriu:
— Aprendemos a não nos dar ao incômodo de formular questões para as quais não existem respostas.
— E o resultado — disse Marley — é o equilíbrio ecológico.
— Correto, mas um equilíbrio ecológico especial. O equilíbrio tem sido mantido durante toda a história do planeta, mas sempre ás custas de catástrofe. Após um desequilíbrio temporário, o equilíbrio é restaurado pela fome,epidemias, drásticas mudanças climáticas. Atualmente o mantemos sem catástrofes através de modificações e alterações diárias, jamais permitindo que o desequilíbrio se acumule perigosamente.
Marley disse:
— É o que você afirmou em certa ocasião: O grande trunfo do homem é o equilíbrio ecológico.
— Afirmam que eu o disse.
— Está na parede, atrás de você.
— Apenas as primeiras palavras — disse Adrastus secamente. Lá estavam, numa longa placa de plástico reluzente, as palavras cintilantes de vida: “O Grande Trunfo do Homem...”
— Não precisa completar a afirmação.
— O que mais posso lhe dizer?
— Posso passar algum tempo ao seu lado, vendo-o trabalhar?
— Assistirá um funcionário privilegiado.
— Não penso assim. Tem encontros aos quais eu possa estar presente?
— Um encontro hoje; um jovem camarada de nome Tansonia; um dos nossos homens da Lua. Pode assistir sentado.
— Homem da Lua? Quer dizer?...
— Sim, dos laboratórios lunares. Agradeça aos céus pela Lua, do contrário todas as experiências deles aconteceriam na Terra e já enfrentamos muitos problemas contendo a Ecologia como ela está.
— Está aludindo às experiências nucleares e poluição radioativa?
— Estou aludindo a muitas coisas.
A fisionomia de Lou Tansonia era um misto de excitação mal contida e mal disfarçada apreensão.
— Alegra-me esta oportunidade de vê-lo, sr. Secretário –. disse ele, ofegante, lutando com a gravidade da Terra.
— Lamento não termos conseguido fazê-lo antes — disse Adrastus com voz macia. — Tenho excelentes relatórios concernentes ao seu trabalho, O outro cavalheiro presente é Jan Marley, escritor de assuntos científicos e ele não nos preocupa.
Lou lançou um rápido olhar na direção do escritor e fez uma reverência com a cabeça. Em seguida, voltou-se avidamente para Adrastus.
— Sr. Secretário...
— Sente-se — convidou-o Adrastus.
Lou se sentou, com aquele toque de estouvamento que se espera de alguém que se aclimata na Terra, e com o ar de quem julgava que ficar calado, enquanto se sentava, era um desperdício de tempo. Disse:
— Sr. Secretário, estou fazendo um apelo à sua personalidade no que concerne ao Projeto de Aplicação Núm...
— Sei disso.
— O sr.já o leu?
— Não, ainda não, mas os computadores já o fizeram.
— Sim! Mas apelo ao sr. e não aos computadores.
Adrastus sorriu e negou com a cabeça:
— Trata-se de um apelo difícil dirigido a mim. Não sei onde poderia encontrar coragem para anular a decisão dos computadores.
— No entanto, deve fazê-lo — disse francamente o jovem. — O meu campo é o da engenharia genética.
— Estou a par disso.
— A engenharia genética — disse Lou, passando por cima da interrupção - é serva da Medicina. Não deve ser assim. Fui informado que dentro de um prazo de dois anos o seu trabalho poderá levar à total supressão, para sempre, do diabetes melitus.
— Sim, mas não me importa. Não desejo levar isso até o fim. Quero que outra pessoa o faça. Curar o diabetes não passa de um pormenor e apenas significará que a taxa de mortandade cair um pouco e produzirá um pouco mais de pressão no sentido do aumento populacional. Não estou interessado em conseguir isto.
— Não dá valor à vida humana?
— Não infinitamente. Há gente demais na Terra.
— Sei que alguns pensam assim.
— É um deles, ar. Secretário. Tem escrito artigos exteriorizando essa opinião. É evidente para todo homem de pensamento — para o sr. mais do que para qualquer outra pessoa... o que isto significa. A superpopulação significa desconforto, e para reduzir o desconforto devem desaparecer as opções pessoais. Superlote um campo com pessoas e o único meio de elas se sentarem é fazendo-o ao mesmo tempo. Se comprimir a um certo ponto uma multidão, ela só poderá deslocar-se de um ponto para outro marchando em forma de batalhão. Eis no que os homens se estão transformando: um batalhão que se desloca cegamente, sem saber nada a respeito do lugar para onde estão indo, nem porque estão indo.
— Quanto tempo ensaiou o discurso, ar. Tansonia?
Lou enrubesceu levemente:
— Enquanto Isto as outras formas viventes estão decrescendo em números de espécies e indivíduos, com exceção das plantas que comemos. A Ecologia fica cada vez mais simples ano após ano.
— Mantém-se em equilíbrio.
— Mas perde em colorido e em variedade, e nem mesmo sabemos até que ponto é bom o equilíbrio. Aceitamos o equilíbrio apenas porque é tudo o que temos.
— O que você faria?
— Interrogaria o computador que rejeitou minha proposta. Desejo iniciar um programa de engenharia genética com uma ampla variedade de espécies que vão dos vermes aos mamíferos. Desejo criar novas variedades a partir do material declinante disponível, antes que ele se esgote completamente.
— Com que finalidade?
— Para criar ecologias artificiais. Ecologias baseadas em plantas e animais diferentes dos que existem na Terra.
— O que lucraria com isso?
— Não sei. Se soubesse com exatidão o que ganharia, não haveria necessidade da pesquisa. No entanto, sei o que deveríamos lucrar. Deveríamos aprender mais sobre o que faz uma ecologia funcionar. Até agora, só aceitamos as coisas que a Natureza nos tem dado; em seguida, nós as arruinamos, trituramos e nos arranjamos com as sobras dilaceradas. Por que não construir alguma coisa e estudá-la?
— Fala em construí-la cegamente? A esmo?
— Não conhecemos o bastante para fazê-lo de qualquer outra forma. A engenharia genética tem na mutação fortuita a sua força propulsora básica. Aplicada à medicina o acaso deve ser minimizado a todo custo, de vez que se busca um efeito especifico. Pretendo tomar o componente fortuito da engenharia genética e pô-lo em uso.
Adrastus fechou a cara por instantes:
— E como vai estabelecer um estudo biológico da relação das plantas e animais no meio ambiente que seja realmente importante? Não influenciará na Ecologia já existente, e possivelmente a desequilibrará? É algo que não podemos permitir.
— Não tenho a intenção de realizar as experiências na Terra — disse Lou. — É claro que não.
— Na Lua?
— Nem na Lua... nos Asteroides. Tenho pensado nisto desde que minha proposta foi inserida no computador e rejeitada. Talvez isto faça diferença. Que tal pequenos asteroides sem importância, um para cada experiência ecológica? Reservar um certo número deles para tal fim. Planejá-los convenientemente; equipá-los com fontes de energia e transportadores; semeá-los com coleções de formas vida capazes de formar uma ecologia à parte. Ver o que acontece. Se não der certo, tentar saber por que razão e subtrair um ponto mais provavelmente, acrescentar um outro, ou alterar proporções. Desenvolveremos uma ciência de ecologia aplicada ou, se prefere, uma ciência de engenharia ecológica; uma ciência um passo à frente em matéria de complexidade e significado. Um passo além da engenharia genética.
— Mas não é capaz de explicar o proveito disso.
— O proveito específico? É claro que não. Mas como pode anular algum proveito? Aumentará o conhecimento no campo mais carente dele — apontou para o reluzente letreiro atrás de Adrastus. — O senhor mesmo afirmou: “O maior trunfo do homem é uma ecologia equilibrada”. — Estou lhe oferecendo um meio de realizar pesquisas básicas na ecologia experimental; algo que nunca foi feito antes.
— De quantos asteroides irá precisar?
Lou hesitou:
— Dez? — respondeu com inflexão crescente. — Para início.
— Aceito cinco — disse Adrastus, puxando o relatório para si. Rabiscou algumas palavras apressadamente na primeira página, cancelando a decisão dos computadores.
Pouco depois, Marley perguntou:
— Pode sentar-se e dizer-me se é ou não um funcionário privilegiado? Cancelou a decisão do computador e deu cinco asteroides. Sem mais nem menos.
— O Congresso terá que dar sua aprovação. E tenho certeza de que a dará
— Nesse caso, é de opinião que a sugestão do jovem é realmente boa..
— Não, não sou. A despeito do entusiasmo dele, a matéria é tão complexa que certamente exigirá muito mais homens do que os que possivelmente possam achar-se disponíveis e muito mais anos do que um jovem possa viver para levá-lo a um ponto satisfatório.
— Tem certeza?
— É o que diz o computador. Por estas razões o projeto foi rejeitado.
— Neste caso, por que cancelou a decisão do computador?
— Porque eu, e o governo em geral, estamos aqui a fim de preservar algo muito mais importante do que a Ecologia.
Marley inclinou-se para a frente:
— Não compreendi.
— Porque você interpretou mal o que afirmei há muito tempo. Porque todos o interpretam erroneamente. Porque falei duas frases e foram soldadas em uma e jamais consegui separá-las novamente. É de se presumir que o gênero humano não está disposto a aceitar minhas observações como eu as faço.
— Quer dizer que não disse “O maior trunfo do homem é uma ecologia equilibrada”?
— Claro que não. Eu disse: “A maior necessidade do homem é uma ecologia equilibrada”.
— Mas na sua reluzente placa de plástico está “O maior trunfo do homem...”
— É o início de uma segunda frase, que os homens se recusam: a citar, mas que eu nunca me esqueço: “O maior trunfo do homem é um espírito tranquilo”. Não anulei a decisão do computador por amor da nossa ecologia. Precisamos viver. Cancelei a decisão para salvar uma mente de valor, mantendo-a em atividade, um espírito tranquilo. Precisamos disso para que um homem seja um homem — o que é mais importante do que simplesmente viver.
Marley ergueu-se:
— Desconfio, Sr. Secretário, que me queria presente durante a entrevista. É esta a tese que deseja que eu publique, não é?
— Digamos — disse Adrastus — que estou me valendo de uma oportunidade de conseguir que as minhas observações sejam corretamente citadas.
Que pena, foi esta a minha última venda a John. O cheque chegou a 18 de agosto de 1970, e menos de um ano depois ele estava morto.
Quando a história apareceu no número de janeiro de 1972, no Analog, era o meu bom e gentil amigo Ben Bova o editor da revista. Não é possível ocupar o lugar de John Campbell, mas Ben está ocupando o seu com muito sucesso.
A história seguinte foi escrita como o resultado de uma comédia de erros. Em janeiro de 1971, em resultado de um complicado conjunto de circunstâncias, prometi a Bob Silverberg que escreveria uma pequena história para unia antologia de originais que ele estava planejando.
Escrevi a pequena história, que não resultou numa história tão curta assim. Para minha enorme surpresa, escrevi uma novela, The Gods Themselves, minha primeira novela de ficção científica em quinze anos (se não incluir Fantastie Voyage que não foi inteiramente minha).
Não foi de modo algum uma novela ruim, de vez que conquistou o “Hugo” e o “Nebula” e mostrou ao mundo da ficção científica que o velho ainda estava em forma. Não obstante, ela deixou-me em apuros, porquanto havia a história curta que eu tinha prometido a Bob, Escrevi, portanto, “Risque um Fósforo” (“Take a match”), que apareceu na antologia de Bob, New Dimensions II.
Risque um fósforo
O espaço era trevas; negrume em todas as direções, por toda parte. Não se podia ver nada, nem sequer uma estrela.
E não era porque não houvesse estrelas...
Na realidade, o pensamento de que poderia não haver estrelas, exatamente nenhuma estrela, havia gelado as entranhas de Per Hanson. Era o velho pesadelo que jazia subliminarmente logo abaixo da pele do explorador espacial de cérebro penetrante.
Quando se dá o salto no universo da taqueometria, até que ponto se pode ter certeza de que se emergirá? O ritmo e a quantidade de energia consumidos poderiam ser rigorosamente controlados caso se quisesse, e o seu Fusionista poderia ser o melhor do espaço, mas o princípio da incerteza reinava soberanamente e havia sempre o risco, ou mesmo a inevitabilidade de uma desorientação casual.
Em se tratando de taqueometria universal, um erro da espessura de uma folha de papel poderia significar milhares de anos-luz.
E daí, se você não aterrasse em parte alguma; ou pelo menos tão distante de qualquer lugar, que nada poderia possivelmente guiá-lo ao conhecimento de sua posição e nada, portanto, poderia trazê-lo de volta a qualquer lugar?
Impossível, diziam os eruditos. Não existia lugar algum no Uni verso de onde os “quasar” não pudessem ser avistados, e através deles, somente, vocês poderiam calcular sua posição. Além do mais, o risco de que em viagens espaciais comuns o simples acaso o levasse para fora das Galáxias era de apenas uma vez em cerca de dez milhões, e para a distância de, digamos, a Galáxia Andrômeda ou Maffei 1, talvez uma em um quatrilhão de vezes.
Esqueça-se disso, diziam os eruditos.
De modo que quando uma espaçonave sai de sua rota e retorna dos fantásticos paradoxos da taqueometria do mais rápido que a luz para o salutar conhecemos tudo isso, de todo o retardamento causado pela fricção dos prótons, deve haver estrelas para serem vistas. Contudo, se não são vistas, você se encontra numa nuvem de poeira; é a única explicação. Há áreas nebulosas na Galáxia, ou em qualquer galáxia em forma de espiral, como existiam antigamente na Terra, quando ela era à único lar da humanidade, em vez de ser um museu de preservação de peças, de clima controlado, como é agora.
Hanson era alto e melancólico; sua pele era coriácea, e o que ele desconhecia a respeito das hiperespaçonaves que sulcavam a largura e o comprimento da galáxia e as regiões imediatamente vizinhas dela — cercando perenemente o que era um mistério para os Fusionistas — ainda estava para ser solucionado. Estava sozinho na cabina do capitão — como sempre gostava de estar. Tinha à disposição tudo de que necessitava para entrar em contato com qualquer homem ou mulher a bordo, e com os registros de qualquer aparelho e instrumento. Agradava-lhe ser uma presença invisível.
Contudo, naquele momento nada lhe agradava. Fechou o contato e perguntou:
— O que mais, Strauss?
— Estamos numa constelação aberta — disse a voz de Strauss. Hanson não ligou o dispositivo visual. Teria significado a exposição de seu rosto, e ele preferia que sua aparência de doentia preocupação continuasse a ser algo pessoal.
— Ao menos — prosseguiu Strauss — parece ser uma constelação aberta, pelo nível de radiação que conseguimos obter dos longínquos raios infravermelhos e das micro-ondas. O problema é que não somos capazes de localizar com precisão as posições a fim de descobrirmos a nossa localização. Nenhuma esperança.
— Nada na luz visível?
— Nada, absolutamente nada, tampouco nas proximidades da luz infravermelha. A nuvem de poeira é tão espessa quanto uma sopa.
— Qual sua extensão?
— Não há jeito de calcular.
— Pode estimar a que distância se encontra da borda mais próxima?
— Nem mesmo quanto à ordem de magnitude. Tanto pode estar a uma semana-luz como dez anos-luz. Não há absolutamente meios de se calcular.
— Falou com Viluekis?
Strauss disse resumidamente:
— Sim.
— O que disse ele?
— Não muita coisa. Está mal-humorado. Naturalmente, está levando isto na ordem de uma ofensa pessoal.
— Naturalmente — Hanson exalou um suspiro inaudível.Os Fusionistas eram tão pueris como crianças e porque o romântico papel no espaço infinito lhes pertencia, eram tratados com indulgência. Ele disse: — Suponho que lhe disse que este tipo de coisa é imprevisível e pode acontecer a qualquer momento.
— Sim, disse-lhe. E ele disse, como você pode adivinhar... — “não para Viluekis”.
— Acontece que obviamente é para ele. Bem, não consigo falar com ele. Nada que eu possa dizer significará coisa alguma, exceto que estou tentando dar ordens e então não conseguiremos mais nada dele.
— Ele não vai começar a escavação?
— Diz que não –. Acha que pode danificar o campo magnético.
— Como pode danificar um campo magnético?
Strauss resmungou:
— Não lhe diga tal coisa. Ele lhe dirá que um tubo de fusão é muito mais complexo do que um campo magnético e você está tentando rebaixá-lo.
— Sim, compreendo. Bem, preste atenção. Ponha todo mundo e todas as coisas na nuvem. Deve haver algum meio de fazer algum cálculo sobre a direção e distância da borda mais próxima.
Interrompeu a ligação.
Então Strauss franziu o cenho, ao pensar na distância média.
A borda mais próxima! Era de se duvidar que com a velocidade da espaçonave (com relação à matéria circundante) ousassem despender a energia exigida para uma radical alteração do curso.
Haviam entrado no Salto, desenvolvendo metade da velocidade da luz com relação ao núcleo galáctico do universo-tardyon, e saíram dele (naturalmente) à mesma velocidade. Aparentemente, sempre existia um elemento de risco nisso. Afinal, suponha que você se encontre, no retorno, nas proximidades da periferia de uma estrela, voando ao encontro dela e deslocando-se à metade da velocidade da luz.
Os teóricos refutavam a possibilidade. Aproximar-se perigosa- mente de um corpo maciço por meio de um Salto não era racionalmente de se esperar. Assim diziam os eruditos. A viagem estava envolta em forças gravitacionais e na transição de tardyon para tachyon, retornando a tardyon, as forças adquiriam uma natureza de repulsão. De fato, era um efeito fortuito de uma rede de força gravitacional que nunca poderia ser esclarecida com pormenores que explicassem uma porção de incertezas do Salto.
Além do mais, diziam, confiem no instinto do Fusionista. Um bom fusionista nunca erra.
Acontece que o tal Fusionista os havia lançado numa nuvem.
— Ora, isso está sempre acontecendo. Não tem importância. Você sabe como a maioria das nuvens é rala. Você nem mesmo perceberá que está dentro de uma delas.
(Não esta nuvem, ô sabichões.)
— Em verdade, as nuvens fazem bem a vocês. O captadores de energia não precisam trabalhar multo arduamente para manter a fusão em funcionamento, armazenando energia.
(Não nesta nuvem, ô sabichões.)
— Bem, então confie no Fusionista para encontrar uma saída.
(Mas, e se não houvesse saída?)
Hanson esquivou-se assustado do último pensamento. Esforçou-se por não pensar. Mas como esquivar-se a um pensamento que é a coisa mais gritante dentro de sua cabeça?
Henry Strauss, o astrônomo da espaçonave, estava num tremendo estado de depressão. Se o que havia acontecido significava uma catástrofe irremediável, teria que ser aceita. Ninguém nas hiperespaçonaves poderia fechar completamente os olhos à possibilidade de uma catástrofe. Preparava-se para ela ou, pelo menos, procurava-se estar pronto para ela. Muito embora fosse pior para os passageiros, é óbvio.
Contudo, quando a catástrofe envolvia algo por que você seria capaz de dar os seus dentes caninos para observar e estudar, e quando se descobre que o achado profissional de uma existência era exatamente o que o estava matando...
Suspirou pesadamente.
Era um indivíduo corpulento, que usava lentes de contato coloridas, que davam um brilho e cor espúrios aos olhos, que de outra forma combinariam perfeitamente com uma personalidade inexpressiva.
O capitão não podia fazer nada. Ele sabia disso. O capitão podia ser o soberano absoluto em toda a espaçonave, mas um Fusionista era uma lei para si mesmo, e sempre havia sido assim. Mesmo para os passageiros (pensou com desgosto) o Fusionista é o imperador nas vias espaciais e todos os outros tornam-se impotentes.
Era unia questão de oferta e procura. Os computadores deviam calcular a exata quantidade em ritmo de consumo de energia bem como o local e a direção exatos (se “direção” tivesse qualquer significado na transição de tardyon para tachyon), mas a margem de erro era enorme é somente um Fusionista talentoso poderia reduzi-la. O que fazia de um Fusionista uma pessoa talentosa, ninguém sabia — eram natos, não feitos. Mas os Fusionistas sabiam que tinham talento, e nunca houve ninguém que especulasse sobre isso.
Viluekis não era mau como Fusionista — ainda que um Fusionista não vá muito longe. Ele e Strauss, pelo menos, trocavam palavras, muito embora Viluekis tivesse recolhido a bordo a mais bela passageira, após Strauss tê-la visto em primeiro lugar. (De certa forma fazia parte dos direitos imperiais dos Fusionistas em viagem espacial).
Strauss entrou em contato com Anton Viluekis. Levou tempo para estabelecer-se o contato e, quando este se efetuou, Viluekis mostrou sua irritação nos olhos tristonhos e no rosto enrugado.
— Como está o tubo? — perguntou Strauss gentilmente.
— Acho que o fechei a tempo. Examinei-o e não constatei nenhum dano. Agora — olhou para si próprio — preciso tomar um banho. — Pelo menos não está avariado.
— Mas não podemos utilizá-lo.
— Poderíamos utilizá-lo, Vil — disse Strauss com voz insinuante.
— Não podemos adivinhar o que acontecerá lá fora. Se o tubo estivesse avariado, não importaria o que pudesse acontecer lá fora, mas, como está a situação, se a nuvem desaparecer...
— Se... se... se.. — vou lhe dizer um “se”. Se os seus astrônomos imbecis soubessem que a nuvem estava aqui, eu a teria evitado.
Era de uma irrelevância total e Strauss não mordeu a isca. Disse:
— Pode ser que desapareça.
— Qual é a análise?
— Nada boa, Vil. É a mais espessa nuvem de hidroxila já observada. Não existe nenhum ponto na Galáxia, até onde chega meu conhecimento, em que exista uma concentração tão densa densa.de hidroxila.
— E nada de hidrogênio?
— Um pouco de hidrogênio, naturalmente. Cerca de cinco por cento.
— Não é suficiente — disse Viluekis asperamente. — Há mais alguma coisa lá, além de hidroxila. Há algo que me causou mais problemas do que a hidroxila. Localizou-a?
— Sim, formol. Há mais formal do que hidrogênio. Percebe o que isto significa, Vil? Algum processo concentrou oxigênio e carbono no espaço em quantidades sem precedentes; suficiente para consumir o hidrogênio num volume acima de anos-luz cúbicos, talvez. Não existe nada que eu consiga me lembrar ou imaginar que possa explicar tal coisa.
— O que está tentando dizer, Strauss? Está dizendo que é a única nuvem deste. tipo, no espaço, e que sou tão imbecil ao ponto de aterrar nela?
— Não estou dizendo isso, Vil. Disse apenas o que você ouviu e você não me ouviu dizer nada disso. No entanto, Vil, para sair estamos dependendo de você. Não podemos pedir socorro, porque não posso dirigir um hiperraio sem saber onde estamos. E não posso saber onde estamos porque não posso localizar com exatidão nenhuma estrela...
— E não posso usar o tubo de fusão. Por que então sou eu o vilão? Por outro lado, você não pode realizar seu trabalho, Então por que o Fusionista é sempre o vilão? - Viluekis estava fervendo de raiva — É com você, Strauss, com você. Diga-me para onde levar a espaçonave, para encontrar hidrogênio. Informe-me onde está a borda da nuvem... Pro inferno com a borda da nuvem! Descubra a borda desse negócio de hidroxila-formol.
— Ai, se eu pudesse — gemeu Strauss — mas até agora, por mais que sonde, não consegui detectar nada, exceto hidroxila e formol.
— Não podemos fundir este troço.
— Eu sei.
— Bem — disse Viluekis violentamente — aí está um exemplo da razão porque o governo erra ao tentar legislar sobre supersegurança em vez de deixá-la ao julgamento do Fusionista que está no local. Se tivéssemos capacidade para o Salto-Duplo não estaríamos encrencados.
Strauss compreendeu perfeitamente o que Viluekis quis dizer. Havia sempre a tendência para ganhar tempo, perfazendo dois Saltos em rápida sucessão, mas, se um deles envolvesse inevitáveis incertezas, dois em sucessão multiplicavam as incertezas enormemente, e então mesmo o melhor dos Fusionistas pouco poderia fazer. O erro multiplicado quase invariavelmente prolongava interminavelmente a duração dá viagem.
Era norma estrita da supernavegação que dizia que bastava um dia inteiro de viagem entre os Saltos — era preferível três dias inteiros. Isso proporcionava tempo suficiente para preparar a viagem seguinte com a devida cautela. Para evitar que tal norma fosse infringida, cada viagem era feita sob condições que deixassem energia insuficiente para segunda viagem. Pelo menos durante algum tempo os compressores tinham que reunir e armazenar hidrogênio, liquefazê-lo e armazenar energia, acumulando-a para a ignição do Salto. Geralmente, demorava pelo menos um dia armazenando o suficiente para permitir uma viagem espacial.
Strauss disse:
— Até que ponto está sem energia, Vil?
— Não muito. Mais ou menos assim — Viluekis ergueu o dedo polegar e o indicador, separados por alguns milímetros — mas é suficiente.
— Muito mau — disse Strauss sem rodeios, O suprimento de energia era registrado e podia ser inspecionado, mas, ainda assim, os Fusionistas haviam aprendido a organizar os registros de tal forma que lhes deixassem alguma reserva para a segunda viagem.
— Tem certeza? — perguntou. — Que tal se acionássemos os geradores de emergência, desligássemos todas as luzes...
— Também a circulação de ar, os aparelhos elétricos e os instrumentos hidropônicos. Sei, sei. Levei tudo em consideração e mesmo assim não conseguiremos. — Existe a sua estúpida norma de segurança de Salto-Duplo.
Mesmo assim Strauss conseguiu manter o bom humor. Ele sabia — todos sabiam — que tinha sido a Fraternidade dos Fusionistas a força propulsora por trás daquele regulamento, Um Salto-Duplo, às vezes por insistência do capitão, com muita frequência deixava o Fusionista em mísero estado. Mas, havia pelo menos uma vantagem. Com uma viagem obrigatória entre cada Salto, decorreria pelo menos uma semana antes que os passageiros ficassem inquietos e desconfiados e durante aquela semana alguma coisa poderia acontecer. Até então, não chegava a um dia completo.
Ele disse:
— Tem certeza de que não pode fazer nada pelo seu sistema? Filtrar um pouco das impurezas?
— Filtrá-las? Não são impurezas, estão em toda parte. O hidrogênio é a única impureza. Escute: precisarei de meio bilhão de graus para liquefazer átomos de carbono e oxigênio; provavelmente um bilhão. Não pode ser feito, nem vou tentar. Se tentar alguma coisa e não der certo, a culpa é minha e não quero responder por isso. É você que deve me levar ao hidrogênio e vai fazer isto. Leve a espaçonave ao hidrogênio. Não me importa quanto tempo possa demorar.
Strauss disse:
— Não podemos viajar mais rápido do que estamos viajando neste momento, considerando a densidade do ambiente, Vil. E desenvolvendo metade da velocidade da luz, talvez tivéssemos que viajar durante dois anos... talvez vinte anos.
— Bem,você tem que achar uma saída. Ou o capitão.
Strauss interrompeu o contato, desesperado. Não havia meio de prosseguir numa conversa racional com um Fusionista. Havia ouvi do uma teoria avançada (e muito séria) de que repetidas viagens interestelares afetavam o cérebro. No Salto, cada tardyon na matéria comum tinha de ser transformada numa tachyon equivalente e de- pois ser trazida novamente à tardyon original. Se uma dupla conversão fosse imperfeita, ainda que de forma insignificante, o efeito certamente apareceria primeiramente no cérebro, que era de longe a mais complexa peça de matéria na transição. Naturalmente, nunca nenhum efeito maléfico havia sido demonstrado experimentalmente e nenhuma classe de oficiais de espaçonaves mostrava sinais de deterioração com o passar do tempo, a não ser o que poderia ser atribuído ao simples envelhecimento. Mas houvesse o que houvesse nos cérebros dos Fusionistas que os fazia Fusionistas e.permitia que fossem, por mera intuição, além do melhor, dos computadores — devia ser algo particularmente complexo e, logo, especialmente vulnerável.
Bobagens! Não havia coisa alguma. Os Fusionistas eram apenas mimados!
Ele hesitou. Deveria tentar alcançar Cheryl? Ela poderia dar um jeito nas coisas, se é que alguém podia, e logo que o velho bebê Vil estivesse recebendo convenientemente uns afagos, ele poderia encontrar um jeito de pôr os tubos de fusão em operação — com hidroxila ou sem ela.
Acreditava ele realmente que Viluekis era capaz de o fazer sob quaisquer circunstâncias? Ou estava ele evitando a ideia de cruzar o espaço durante anos? Certamente as hiperespaçonaves estavam preparadas para tal eventualidade em princípio; mas a eventualidade nunca acontecera e as tripulações — menos ainda os passageiros — por certo não estavam prontos para ela.
Mas se falasse com Cheryl, o que diria que não soasse como uma ordem de sedução? Havia passado apenas um dia e ele ainda não estava disposto a bancar o alcoviteiro para um Fusionista.
Espere! Pelo menos por enquanto!
Viluekis fez uma carranca. Sentia-se um pouco melhor depois de ter-se banhado e alegrava-se de ter sido firme com Strauss. Não era um mau sujeito, o Strauss, mas, como todos eles (“eles”: o capitão, os passageiros, todos os estúpidos não-fusionistas do universo), gostavam dividir as responsabilidades. Jogavam-nas todas aos ombros dos fusionistas. Era uma velha, muito velha manobra, mas ele era um Fusionista que não estava disposto a aceitá-la.
Aquela conversa a respeito de cruzar o espaço por anos foi apenas um jeito de tentar amedrontá-lo. Se pusessem a cabeça a funcionar, conseguiriam estabelecer os limites da nuvem e achar em algum ponto a borda mais próxima. Era exigir demais, querer que tivessem aterrado bem no centro dela. Naturalmente, se tivessem aterrado perto de uma extremidade e estivessem voando na direção da outra...
Viluekis levantou-se e espreguiçou-se. Era alto e suas sobrancelhas caíam como um dossel sobre os olhos.
Suponho que levasse anos. Nenhuma espaçonave havia cruzado o espaço durante anos. A mais longa viagem havia sido de oitenta e oito dias e treze horas, quando um deles conseguira colocar-se numa posição desfavorável em relação a uma estrela difusa e teve que retroceder a velocidades que montaram à mais de O.9 anos-luz antes que estivesse em condições razoáveis para o Salto.
Conseguiram sobreviver e tinha sido um cruzeiro de um quarto de ano. É claro, vinte anos...
Mas aquilo era impossível.
O sinal luminoso acendeu-se três vezes antes que ele estivesse plenamente consciente disso. Se era o capitão aparecendo para vê-lo pessoalmente, ele sairia muito mais depressa do que tinha entrado.
— Anton!
A voz era macia, insistente. Parte de seu aborrecimento desapareceu. Ele permitiu que a porta recuasse no encaixe e Cheryl entrou. A porta fechou-se novamente às costas dela.
Tinha uns vinte anos, de olhos verdes, queixo firme, cabelos ruivos e um corpo magnífico que não escondia nenhum de seus talentos.
Ela perguntou:
— Anton, há alguma coisa errada?
Viluekis não foi apanhado tão inteiramente de surpresa ao ponto de admitir tal coisa. Mesmo um Fusionista não era tão ingênuo a ponto de revelar prematuramente coisas a uni passageiro.
— Absolutamente nada, O que a faz pensar assim?
— Foi um outro passageiro que mo disse. Um homem de nome Martand.
— Martand? O que sabe ele? — e então, desconfiado: — E o que está fazendo, dando ouvidos a algum passageiro imbecil? Como é ele?
Cheryl sorriu languidamente:
— Um sujeito que puxou conversa no saguão. Deve ter aproximadamente sessenta anos de idade, completamente inofensivo, embora eu pense que ele não gostaria de ser assim. Mas não é o que interessa. Não há estrelas à vista. Qualquer um pode perceber isso, e Martand disse que isso era importante.
— Disse? Estamos precisamente passando por uma nuvem. Existem muitas nuvens na Galáxia e as espaçonaves atravessam-nas constantemente.
— Sim, mas Martand afirma que mesmo estando numa a gente pode ver estrelas.
— Que sabe ele a respeito disso? — repetiu Viluekis. — É um veterano no espaço?
— Não — admitiu Cheryl — na verdade, é a sua primeira viagem, penso. Mas parece conhecer uni bocado.
— Sou capaz de apostar. Escute, procure-o e diga-lhe para calar a boca. Ele pode ficar incomunicável por isso. Quanto a você, não repita bobagens como essa.
Cheryl inclinou a cabeça para um lado:
— Francamente, Anton, você fala como se houvesse encrenca. Martand — Louis Martand é o nome dele — é um sujeito interessante. É professor — oitava série de Ciências Gerais.
— Um mestre-escola! Com a breca, Cheryl!...
— Mas você precisa escutá-lo. Ele afirma que ensinar crianças é uma das poucas profissões em que se precisa conhecer um pouco de tudo, porque as crianças fazem perguntas e são capazes de detectar mentiras.
— Bem, neste caso, a sua especialidade é também detectar mentiras. Agora, Cheryl, vá dizer-lhe para calar a boca, ou então irei eu.
— Está bem, mas antes — é verdade que estamos passando por uma nuvem de hidroxila e que o tubo de liquefação não está funcionando?
A boca de Viluekis abriu e fechou. Demorou uni pouco para dizer:
— Quem lhe disse isto?
— Martand. Agora me vou.
— Não — disse Viluekis asperamente. — Espere um instante. A quantas pessoas disse Martand a mesma coisa?
— A mais ninguém. Disse que não queria espalhar o pânico. Eu estava lá quando ele estava refletindo no assunto, suponho, e calculo que não conseguiu resistir em dizer alguma coisa.
— Ele sabe que você me conhece?
A testa de Cheryl vincou levemente:
— Acho que mencionei alguma coisa a esse respeito.
Viluekis explodiu:
— Não lhe passou pela ideia que este velho maluco sue você encontrou está tentando mostrar-lhe como é importante? É a mim que está tentando impressionar, jogando com você.
— Nada disso — disse Cheryl. — De fato, ele especificou que queria que eu não dissesse nada a você.
— Sabendo, é claro, que você me procuraria imediatamente.
— Por que ele quer que eu o faça?
— Para expor-me ao ridículo! Sabe o que é ser um Fusionista? Ter alguém zangado com agente, contra a gente, porque a gente é tão procurado, porque você...
Cheryl perguntou:
— Mas o que tem isso a ver com o assunto? Se Martand está inteiramente equivocado, como isso o exporia ao ridículo? E se estiver certo... Ele está certo, Anton?
— Bem, o que disse ele exatamente?
— É lógico que não consigo lembrar de tudo — disse Cheryl pensativamente. — Foi depois do início do Salto, para ser precisa, algumas horas depois. Àquela altura, todos estavam comentando que não havia estrelas à vista. No saguão todos diziam que devia haver outra viagem para breve, pois qual a vantagem de uma viagem pelo espaço infinito sem se enxergar nada? Naturalmente, compreendemos que tínhamos que viajar no mínimo um dia. Foi então que Martand entrou, viu-me e aproximou-se para falar comigo — acho que gosta muito de mim.
— Eu acho que não gosto nem um pouco dele — disse Viluekis carrancudo. — Prossiga.
— Disse-lhe que a viagem era muito enfadonha sem paisagens. Ele então disse que ficaríamos assim por algum tempo e pareceu muito preocupado. É claro que lhe perguntei por que dissera tal coisa e ele respondeu-me que era porque o tubo de liquefação havia sido desligado.
— Quem lhe contou? — interpelou-a Viluekis.
— Disse que havia uni zumbido baixo, que podia ser ouvido num dos banheiros masculinos, mas que tinha deixado de se ouvir. Afirmou também que havia um local na sala de jogos onde estão guardados os jogos de xadrez, em que as paredes haviam sido aquecidas por causa do tubo de fusão e que aquele lugar já não estava quente.
— São essas todas as evidências que ele possui?
Cheryl ignorou-o e foi em frente:
— Explicou também que não havia estrelas à vista porque nos achávamos numa nuvem de poeira estelar e o tubo de fusão devia ter parado de funcionar porque não existia na nuvem hidrogênio suficiente. Disse que provavelmente não haveria energia suficiente para acionar a ignição para mais um Salto e que, para encontrar hidrogênio, teríamos que viajar anos pelo espaço para sair da nuvem.
A carranca de Viluekis tornou-se feroz:
— Ele é um gerador de pânico. Você sabe o quê...
— Não é. Pediu-me que não contasse a ninguém porque não queria criar pânico. Além disso, assegurou que não aconteceria tal coisa. Disse-me isso apenas porque estava imaginando o que acontece ria e estava muito nervoso e precisava falar com alguma pessoa. Acreditava que havia uma maneira fácil de sair dessa e que o Fusionista saberia o que fazer e que, portanto, não havia motivos para preocupações. Como você é Fusionista, pareceu-me que eu devia perguntar-lhe se ele estava mesmo certo a respeito da nuvem e se realmente havia cuidado do assunto.
Viluekis disse:
— Esse seu mestre-escola não sabe coisa alguma. Afaste-se dele. — Ah... ele revelou esse meio muito fácil de sair dessa?
— Não, acha que lhe devia ter perguntado?
— Não! E por que deveria ter-lhe perguntado? O que saberia ele a respeito disso? Mas então... Muito bem, pergunte-lhe. Estou curioso sobre o que o sujeito tem em mente. Pergunte-lhe.
Cheryl balançou a cabeça:
— Posso fazê-lo. Mas estamos em encrencas?
Viluekis falou sucintamente:
— Deixe isso comigo. Não estamos em encrenca até que eu diga que estamos.
Ele ficou olhando durante muito tempo a porta fechada, depois que ela saiu, ao mesmo tempo furioso e inquieto. Quem era o tal Louis Martand — o professor de escola primária — o que estava fazendo com seus palpites ao acaso?
Se finalmente se resolvesse que era necessária uma viagem espaciaI prolongada, o fato seria participado aos passageiros aos poucos, com extremo cuidado; caso contrário, nenhum deles sobreviveria. Com Martand gritando para quem quisesse ouvir...
Viluekis ligou quase selvaticamente a combinação que o poria em contato com o capitão.
Martand era magro e de boa aparência. Os lábios pareciam sempre prontos para se abrirem num sorriso,, muito embora o rosto e a postura do corpo fossem marcados por bem controlada seriedade. Uma seriedade como de expectativa, como se estivesse permanentemente esperando que o seu interlocutor falasse algo verdadeiramente importante.
Cheryl disse-lhe:
— Falei com o sr. Viluekis. É o Fusionista, como você sabe. Contei-lhe o que me disse.
Martand mostrou-se chocado. Meneou a cabeça:
— Acho que não devia ter feito isso.
— Ele pareceu descontente.
— Claro. Fusionistas são pessoas muito especiais e não gostam de ter estranhos...
— Pude perceber isso. Mas ele insistiu que não havia nada para causar preocupações.
— Evidentemente, não — disse Martand. Tomou-lhe as mãos e começou a aplicar tapinhas nela, num gesto consolador. Então prosseguiu: — Assegurei-lhe que há um meio muito fácil de sair dessa. Provavelmente, ele está cuidando disso no momento. Ainda assim, suponho que poderia demorar um pouco, antes que ele pense nisso.
— Pense em quê? — em seguida, afetuosamente. — Por que ele não pensaria nisso, se você pensa?
— Acontece que ele é um especialista, como vê, minha querida jovem senhora. Os especialistas pensam em suas especialidades e passam maus momentos tentando livrar-se desses pensamentos. Quanto a mim, não me arrisco a cair na rotina. Quando lanço uma demonstração em classe, tenho de improvisar a maior parte do tempo. Ainda não estive numa escola em que tivesse à minha disposição uma pilha atômica de prótons e sou obrigado a montar um gerador termoelétrico, acionado a querosene, quando estamos em excursões.
— O que é querosene? — perguntou Cheryl.
Martand deu uma gargalhada. Parecia divertir-se muito.
— Viu? As pessoas se esquecem. O querosene é uma espécie de líquido inflamável. Uma fonte de energia muito primitiva que em muitas ocasiões usei para acender fogueiras que a gente inicia com fricção. Já viu algum dia uma delas? Você pega um fósforo...
Cheryl fitava-o sem entender. Martand prosseguiu indulgente mente.
— Bem, não interessa. Estou apenas tentando explicar a ideia de que o seu Fusionista terá que pensar em algo mais primitivo do que fusão e isso ainda vai levar algum tempo. Quanto a mim, estou habituado a lidar com recursos primitivos... Por exemplo, sabe o que é aquilo?
Ele apontou para a tela panorâmica em que não havia nada de destaque, tanto assim que a sala estava virtualmente deserta por falta do que se ver.
— Uma nuvem; uma nuvem de estrelas.
— Sim, mas de que espécie? A única coisa que fatalmente se pode encontrar em toda parte é o hidrogênio. É a coisa original no universo e as espaçonaves dependem dele. Nenhuma consegue transportar combustível suficiente para fazer repetidas viagens espaciais, ou acelerar até quase velocidades-luz. Temos de tirar combustível do espaço.
— Sabe, sempre pensei nessas coisas. Pensava que o espaço exterior era vazio!
— Quase vazio, querida, e é quase tão bom quanto cheio. Quando se viaja a centenas de milhares de milhas por segundo, consegue-se recolher e comprimir uma boa quantidade de hidrogênio, ainda que existam apenas alguns átomos por centímetro cúbico. Pequenas quantidades de hidrogênio, liquefazendo-se constantemente, produzem toda a energia de que necessitamos. Nas nuvens, o hidrogênio é ainda mais espesso, mas as impurezas podem causar problemas, como neste caso.
— Como pode dizer que este tem impurezas?
— Por que outra razão o sr. Viluekis desativou os tubos de fusão? Depois do hidrogênio, os elementos mais comuns do universo são o hélio, o oxigênio e o carbono. Se as bombas de fusão pararam, significa que há escassez de combustível, que é o hidrogênio, e a presença de alguma coisa que danificará o complexo sistema de fusão. Não pode ser o hélio, que é inofensivo. Provavelmente, trata-se dos grupos de hidroxilas, uma combinação de oxigênio-hidrogênio. Compreende?
— Penso que sim — disse Cheryl. — Estudei Ciências Gerais na escola e estou-me lembrando de algumas coisas que aprendi. A nu vem compõe-se realmente de grupos de hidroxilas ligadas a partículas sólidas de poeira.
— Ou, na verdade, livres, em estado gasoso. Me a hidroxila, em quantidades moderadas, não é demasiadamente perigosa no sistema de fusão, mas os compostos de carbono são. O formol provavelmente o é, e imagino que ele está na proporção de para quatro hidroxila Compreende agora?
— Não, não compreendo — respondeu Cheryl sem pestanejar.
— Tais compostos não se fundem. Se você os aquecer até atingirem uma temperatura de algumas centenas de milhões de graus, eles se desintegram em átomos simples e a concentração de oxigênio e carbono danificarão o sistema. Mas por que não empregá-los em temperaturas normais? A hidroxila combinar-se-á com o formol, após a compressão, numa reação química que não afetará o bom funcionamento do sistema. Pelo menos, tenho certeza de que um bom Fusionista seria capaz de modificar o sistema e controlar uma reação química à temperatura ambiente. A energia de tal reação poderia ser armazenada e, depois de algum tempo, haveria o suficiente para tornar.possível um Salto.
Cheryl disse:
— Não compreendo nada. As reações químicas praticamente não produzem energia, comparadas com a fusão.
— Tem toda a razão, querida. Mas não precisamos de muita energia. Os Saltos anteriores têm-nos deixado com energia insuficiente para um outro Salto... é o regulamento. Mas sou capaz de apostar que o seu amigo, o Fusionista, tomou providências quando viu que estava faltando quantia tão pequena de energia. Os Fusionistas costumam fazer isso. A pouca energia extra exigida para conseguir a ignição pode ser colhida das reações químicas comuns. Em seguida, assim que um impulso nos leve para fora da nuvem, uma viagem de uma semana mais ou menos, reabastecerá os nossos tanques de energia e poderemos prosseguir sem problemas, É claro que... — Martand ergueu as sobrancelhas e encolheu os ombros.
— Sim?
— Naturalmente — disse Martand — se por qualquer razão o sr. Viluekis retardasse a ação, poderiam surgir problemas. Cada dia que gastamos antes de iniciar o Salto consome a energia habitual da existência na espaçonave e, dentro em pouco, as reações químicas não suprirão a energia requerida para se conseguir a ignição para o Salto. Espero que ele não demore muito.
— Bem, por que não lhe vai dizer isso agora mesmo?
Martand sacudiu a cabeça:
— Aconselhar um Fusionista? Não poderia fazê-lo, querida.
— Então eu o farei.
— Não, sem dúvida ele mesmo irá pensar no assunto. Com efeito, apostarei com você, querida. Diga-lhe exatamente o que acabo de lhe explicar e diga-lhe que sei que ele já pensou nessas coisas e que o.tubo de fusão está funcionando. E, naturalmente, se eu ganhar a aposta...
Martand sorriu.
Cheryl também sorriu:
— Verei — disse ela.
Martand ficou olhando-a por detrás, meditativamente, enquanto ela se afastava apressadamente. Seus pensamentos não eram todos sobre a possível reação de Viluekis.
Não se surpreendeu quando um guarda da espaçonave apareceu inopinadamente e ordenou:
— Queira acompanhar-me, sr. Martand.
Martand disse calmamente.
— Grato por deixar-me terminar. Receei que não mo deixasse.
Passou-se um pouco mais do que seis horas antes que Martand pudesse ver o capitão. Sua prisão (como ele a encarava) era mais um isolamento, mas não opressiva. Quando o capitão veio vê-lo, parecia extenuado e claramente hostil.
Hanson disse:
— Relataram-me que estava espalhando boatos com o fito de criar pânico entre os passageiros. É unia acusação séria.
— Falei com um passageiro apenas, senhor, e foi com um propósito.
— Sabemos disso. Colocamos você sob vigilância imediatamente e tenho um relatório, com muitos detalhes, da conversa que manteve com a srta. Cheryl Winter. Foi a segunda conversa sobre o assunto.
— Sim, senhor.
— Aparentemente, tinha a intenção de que o assunto da conversa fosse parar nos ouvidos do sr. Viluekis.
— Sim, senhor.
— Não pensou em procurar o sr. Viluekis pessoalmente?
— Duvido que me teria dado ouvidos, senhor.
— Ou a mim.
— O sr. me poderia ter ouvido, mas como a transmitiria ao sr. Viluekis? O sr. mesmo teria que utilizar a srta. Winter. Os Fusionistas têm suas esquisitices.
O capitão concordou, balançando a cabeça distraidamente:
— O que esperava que acontecesse quando a srta. Winter passasse as informações ao sr. Viluekis?
— Minha esperança — disse Martand — era de que fosse menos defensivo com a srta. Winter do que com qualquer outra pessoa; que se sentisse menos ameaçado. Nutria a esperança de que daria uma gargalhada e diria que a ideia era muito simples e que já lhe havia ocorrido há muito tempo e que, com efeito, os geradores de energia já estavam funcionando, com o propósito de promover reações químicas. Em seguida, quando se livrasse da srta. Winter, e imagino que o faria bem depressa, poria os geradores energéticos em ação e o poria a par disso, senhor; omitindo qualquer referência quanto à minha pessoa ou à srta. Winter.
— Não pensou que ele poderia não tomar conhecimento da ideia, dando-a como impraticável?
— Havia esse risco, mas tal não aconteceu.
— Como sabe?
— Porque meia hora depois de minha detenção, senhor, as luzes da sala onde eu estava preso obscureceram-se perceptivelmente e não voltaram a se acender. Concluí que o consumo de energia na espaçonave havia sido drasticamente reduzido, e mais: que Viluekis estava jogando tudo na panela, a fim de que a reação química produzisse energia suficiente para a ignição.
O capitão franziu a testa:
— O que lhe deu a certeza de que poderia manipular a srta. Win ter? Decerto, nunca tratou com Fusionistas, ou já?
— Ah, mas eu leciono no oitavo grau, senhor. Tenho lidado com outras crianças.
O capitão ficou com cara de bobo durante algum tempo. Então, vagarosamente, foi se descontraindo num sorriso:
— Gosto de você, Martand — disse — mas isto não vai ajudá-lo. Suas esperanças realmente se consubstanciaram, até onde posso ver, aconteceu tudo exatamente como você queria. Mas compreende o que aconteceu em seguida?
— Compreendo, se me contar.
— O si. Viluekis teve que avaliar sua sugestão e decidir, imediatamente, se era prática. Foi forçado a efetuar numerosas e cuidadosas adaptações ao sistema a fim de permitir a realização das reações químicas sem pôr em risco a possibilidade de futuras fusões. Teve que determinar a taxa máxima de segurança de reação; a quantidade de energia armazenada a ser poupada; o ponto em que poderia ser tentada com segurança cada ignição; o tipo e a natureza do Salto. Todas essas coisas tiveram de ser feitas, rapidamente, e ninguém mais, exceto um Fusionista, poderia tê-las feito. Com efeito, não é qualquer Fusionista que teria sido capaz de fazê-lo. O si. Viluekis é excepcional, mesmo tratando-se de um Fusionista. Compreende?
— Perfeitamente.
O capitão olhou para o relógio na parede e ativou a escotilha. Estava em trevas, como havia estado a maior parte de dois dias: — O sr. Viluekis já me pôs a par da hora em que tentará acionar a ignição para o Salto. É de parecer que funcionará e estou confiante em seu juízo.
— Se ele falhar — disse Martand sombriamente — talvez nos encontremos no mesmo ponto de antes, mas desprovidos de energia.
— Compreendo — disse Hanson — e uma vez que você poderia sentir uma certa responsabilidade por ter metido a ideia na cabeça do Fusionista, penso que você gostaria de esperar pelos momentos de suspense que nos aguardam.
Os dois homens calaram-se, olhando a tela, enquanto os primeiros segundos, em seguida os minutos, passavam. Hanson não havia mencionado a hora certa e Martand não possuía meios de dizer se era iminente ou se já havia passado. Apenas voltava os olhos rapidamente, de tempos em tempos, na direção do capitão, que mantinha a fisionomia calculadamente inexpressiva.
E então, houve aquele estranho puxão interno, que desapareceu quase imediatamente, como um espasmo violento na parede estomacal. Haviam arrancado no espaço.
— Estrelas! — exclamou Hanson, num sussurro de profunda satisfação. A escotilha havia explodido numa profusão delas e no momento Martand não conseguiu recordar-se de uma vista mais agradável em toda a sua existência.
— Na hora exata — disse Hanson. — Um excelente trabalho. — Estamos completamente sem energia, mas estaremos repletos dela novamente em algum momento entre uma a três semanas. Durante esse tempo os passageiros terão sua paisagem.
Martand sentia-se fraco demais para falar, devido ao alívio.
O capitão voltou-se para ele:
— Agora, sr. Martand. Sua ideia teve méritos. É de se argumentar que ela salvou a espaçonave e todos os de dentro dela. Poder-se-ia argumentar, igualmente, que o sr. Viluekis pessoalmente pensaria nela muito cedo. Mas não haverá nenhuma discussão, pois sob nenhuma condição pode ser reconhecida a parte que você desempenhou nisto. O sr. Viluekis realizou o trabalho, um trabalho de pura virtuosidade, mesmo depois de tomarmos em consideração o fato de que foi você quem deu início a ele. Ele será elogiado e receberá grandes honras. Você não receberá nada.
Martand permaneceu em silêncio por instantes. Então disse:
— Compreendo. Um Fusionista é indispensável e eu sou um João- ninguém. Se o orgulho do sr. Viluekis sofrer a mínima afronta, ele poderá tornar-se inútil, e o sr. não se pode dar a esse luxo. Quanto a mim... bem, faça-se a sua vontade. Bom dia, capitão.
— Nem tanto — disse o capitão. — Não podemos confiar em você.
— Não direi nada.
— Pode não ter a intenção, mas as coisas acontecem. Não podemos correr o risco. Pelo resto da viagem, ficará sob prisão domiciliar.
Martand ficou muito sério:
— Porquê? Salvei você e a sua maldita nave... também o seu Fusionista.
— Exatamente por causa disso. Por tê-la salvo. Assim são as coisas.
— Onde está a justiça?
O capitão meneou lentamente a cabeça:
— É uma mercadoria rara, admito, e às vezes cara demais para se possuir. Você não poderá nem mesmo ir para os seus aposentos. Não verá mais ninguém enquanto durar a viagem.
Martand coçou o lado do queixo com um dedo:
— Decerto não está falando isso de um modo literal, capitão.
— Sinto multo, mas estou.
— Acontece que há outra pessoa que poderia falar... acidentalmente e sem intenção de fazê-lo. É melhor colocar também a srta. Winter sob prisão domiciliar.
— E cometer duas injustiças?
— A desgraça ama a companhia disse Martand.
O capitão sorriu:
— É, acho que você tem razão — disse.
É uma pena, mas os amigos de escritores também aparecem e desaparecem. Depois de mudar-me para Nova Iorque via com frequência numerosos escritores que, enquanto estava em Boston, havia visto apenas ocasionalmente. Lester del Rey e Robert Silverberg são alguns exemplos. Quando, em 1972, Bob se mudou para a Califórnia, perdi-o de vista mais uma vez.
A propósito, tive a oportunidade de prestar um último obséquio a John Campbell. Ocorreu a Harry Harrison compilar uma antologia das histórias do tipo que John Campbell havia tornado famosas. Eu, naturalmente, era um dos autores, e, em março de 1972, ofereci-me para escrever outro artigo, “tiotimolina”.
Eu havia escrito três, em meu tempo, e haviam causado considerável comoção. O primeiro foi “As Propriedades Endocrônicas da Tiotimolina Ressublimada”, que apareceu no número de março de 1948, em Astounding, sob circunstâncias já descritas em O Futuro Começou (onde o artigo foi reeditado).
O segundo foi “As Aplicações Micropsiquiátricas de Tiotimolina”, que apareceu em Astounding de dezembro de 1953. Esta, juntamente com a primeira, foi incluída em minha coleção “Apenas um Trilhão”.
O terceiro foi “Tiotimolina e a Era Espacial” que apareceu em Analog de setembro de 1960 e foi incluído em meu livro Opus 100.
Escrevi então o quarto, vinte e cinco anos após o primeiro, e chamou-se “Tiotimolina para as Estrelas” (“Thiotimoline to the Stars”).
Tiotimolina para as estrelas
— O mesmo discurso, suponho — disse Ensign Peet, monotonamente.
— Por que não? — disse o Tenente Prohorov, cerrando os olhos ao refestelar-se na cadeira. — Há quinze anos que ele faz o mesmo, uma vez para cada classe de diplomandos da Academia de Astronáutica.
— Palavra por palavra, suponho — disse Peet, que o havia ouvido pela primeira vez no ano anterior.
— Até onde lhe posso dizer! — Que chato arrogante! A ponta de um alfinete acabaria com essa pretensão -
Mas naquele momento a classe estava entrando em fila, uniformizada e expectante, marchando em frente, dispersando-se para formar com precisão as filas, cada homem e cada mulher caminhando para o respectivo assento ao ritmo baixo de um surdo, sentando-se todos ao som de uma única e forte batida final.
Em seguida entrou o Almirante Vernon e caminhou rigidamente até o pódio,
— Bem-vindos os diplomandos da turma 22. Acabou seu tempo de escola. A sua educação vai começar agora.
— Vocês aprenderam tudo o que há para se saber a respeito da teoria clássica dos voos espaciais. Têm sido abundantemente preenchidos com astrofísica e mecânica do relativismo celestial. Mas ainda não foram informados sobre tiotimolina.
— E isso por uma boa razão. Falar-lhes a respeito disso em classe não será de nenhum proveito. Vocês terão de aprender a voar com tiotimolina, e somente isso os levará às estrelas. A despeito de todo o conhecimento derivado de livros, pode ser que nunca aprendam a lidar com a tiotimolina. Se assim for, haverá ainda muitos postos que vocês poderão preencher na ciência astronáutica. Ser um piloto, contudo, não será um deles.
— Iniciá-los-ei no assunto, no dia de sua graduação, com a única conferência que terão sobre a matéria. Depois disso, lidarão com tiotimolina em voo, e descobrirei rapidamente se têm ou não talento para isso.
O Almirante pausou e pareceu estar olhando de rosto em rosto como se estivesse tentando avaliar, logo de início, o talento de cada um dos presentes. Em seguida, troou:
— Tiotimolina! Mencionada pela primeira vez em 1948, de acordo com a história, por Azimuth, ou, possivelmente, Asymptote, que podem, muito provavelmente, nunca ter existido. Não existe registro do artigo original que se supõe ter sido escrito por eles; apenas vagas referencias a eles, não antes do século vinte e um.
— O estudo sério começou com Almirante, que o descobriu a tiotimolina, ou a redescobriu, se for aceita a versão Azimuth / Asymptote. Almirante elaborou a teoria do impedimento hiperestérico e demonstrou que a molécula de tiotimolina é tão distorcida que um dos seus núcleos é forçado a entrar no passado, através da extensão da dimensão temporal, enquanto a outra projeta-se no futuro.
— Por causa da extensão-futuro a tiotimolina pode interferir num evento que ainda não se realizou. Pode, por exemplo, para lançar mão de um exemplo clássico, dissolver-se na água aproximadamente um segundo antes de ela ser acrescentada.
A tiotimolina é, está claro, um componente comparativamente muito simples. Tem, com efeito, a mais simples molécula capaz de apresentar propriedades endocrônicas — isto é, a extensão passado-futuro. Enquanto isto tornou possível expedientes sem paralelo, as verdadeiras aplicações da endocronicidade tiveram que aguardar o desenvolvimento de moléculas mais complicadas: polímeros que combinassem a endocronicidade com a estrutura sólida.
— Pellagrini foi o primeiro a formar resinas e plásticos endocrônicos e, vinte anos depois, Cudahy demonstrou a técnica para a ligação do plástico endocrônico ao metal, o que tornou possível a fabricação de grandes objetos endocrônicos — espaçonaves inteiras, por exemplo.
— Consideremos, em seguida, o que acontece quando uma grande estrutura é endocrônica. Eu a descreverei apenas qualitativamente; é a única coisa necessária. Os teóricos já têm tudo solucionado matematicamente, mas ainda não encontrei um Joãozinho-Físico capaz de pilotar uma espaçonave. Eles que tratem da teoria, e vocês cuidarão da espaçonave.
— A pequenina molécula da tiotimolina é extraordinariamente sensível aos estados probabilísticos do futuro. Se você tem certeza de que irá acrescentar a água, a molécula se dissolverá antes que acrescente a água. Se houver a menor dúvida em sua mente de que se irá acrescentar a água, a tiotimolina não se dissolverá até que se despeje a água.
— Quanto mais endocronicidade possuir a molécula, tanto menos sensível é ela à presença da dúvida. Ela se dissolverá, isto é, transformará suas propriedades elétricas, ou, de algum modo, intervirá na água, mesmo que se esteja quase certo de que talvez não se acrescente a água. Mas o que acontece se realmente não se acrescenta a água? A resposta é simples. A estrutura endocrônica se deslocará para o futuro, em busca de água. Não a encontrando, continuará a mover-se no futuro.
— O efeito é muito análogo ao do asno seguindo uma cenoura pendurada na extremidade de uma vara, suspensa a uns trinta centímetros do focinho do animal; só que a estrutura endocrônica não é tão esperta quanto o asno, e nunca se cansa.
— Se uma espaçonave for inteiramente endocrônica — isto é — se agrupamentos endocrônicos forem fixados de tempos em tempos no casco de uma espaçonave — torna-se fácil desenvolver maquinismos que descarregarão água em pontos-chaves da estrutura e depois arranjarão o mecanismo de tal forma que, embora aparentemente esteja no ponto de descarga de água, nunca está realmente ali.
— Neste caso, o dispositivo endocrônico move-se para dentro do futuro, carregando a espaçonave inteira consigo e todos os objetos no interior dela, inclusive sua tripulação.
— É óbvio que não existe nada infalível. A espaçonave está movendo-se para a frente, no tempo, com relação ao universo, o que é o mesmo que dizer que o universo está movendo-se para trás, com relação à espaçonave. O ritmo do avanço da espaçonave para a frente, assim como o movimento retroativo do universo, no tempo, pode ser ajustado, com grande margem de precisão, através das modificações necessárias no maquinismo de acréscimo d'água. O modo apropriado de fazê-lo pode ser aprendido, de modo mais ou menos superficial; mas pode ser perfeitamente aplicado apenas por um talento inato. É o que descobriremos a respeito de vocês todos, se possuírem uni tal talento.
Fez uma nova pausa para observá-los. Então, continuou no meio de um perfeito silêncio:
— Mas qual a vantagem disso tudo? Vamos considerar os voos às estrelas e revisar algumas das coisas que aprenderam na escola.
— As estrelas estão inacreditavelmente separadas entre si e viajar e uma para outra, considerando o limite de velocidade em anos-luz, leva anos, séculos ou milênios. Um dos meios de fazê-lo é construir uma enorme espaçonave contendo uma ecologia; um pequeno universo autossuficiente. Um grupo de pessoas iniciará a viagem e a décima geração, a contar deles, atingirá uma estrela distante. Um homem só não completará a jornada e, mesmo que a espaçonave eventualmente retorne à terra, terão se passado vários séculos.
— Para levar o primeiro grupo às estrelas durante sua própria existência talvez seja preciso recorrer a técnicas de congelamento para mantê-los num estado de animação sustentada durante praticamente toda a viagem. Contudo, o congelamento é um procedimento muito incerto e, mesmo que a tripulação sobreviva e retorne, descobrirão que muitos anos se passaram na Terra.
— Para levar a tripulação original às estrelas no decurso de sua existência, sem congelá-los, é necessário acelerar as velocidades vizinhas às velocidades da luz. O tempo subjetivo torna-se lento e para a tripulação parecerá que a viagem foi feita em questão de meses. No entanto, o tempo caminha ao ritmo normal para o resto do universo e quando a tripulação retornar, constatará que, embora eles mesmos tenham envelhecido e permanecido apenas dois meses no tempo, ou coisa assim, a própria Terra terá avançado muitos séculos,
— Em qualquer caso, a viagem às estrelas envolve enormes lapsos de tempo na Terra, ainda que não pareça assim para a tripulação. A pessoa deve retornar à Terra, se é que retoma algum dia, quando a Terra estiver muito avançada dentro do futuro, o que significa que as viagens interestelares não são psicologicamente práticas.
— Mas... mas... os graduados...
Olhou-os perspicazmente e então disse com voz baixa e tensa:
— Se utilizarmos uma espaçonave endocrônica, podemos combinar perfeitamente o efeito da dilatação do tempo com o efeito endocrônico. Enquanto a espaçonave cruza o espaço a enormes velocidades e sofre um grande retardamento na média de tempo experimentado, o efeito endocrônico está levando o universo de volta no tempo, em relação à espaçonave. Convenientemente manobrado, quando a espaçonave retornar à Terra, tendo a tripulação vivido, digamos, apenas dois meses, o universo inteiro terá, igualmente, experimentado um lapso de tempo de dois meses. Então, afinal, a viagem interestelar se torna algo prático.
— Mas somente se for controlada com muita sutileza.
— Se o efeito endocrônico ficar um pouco atrás do efeito de dilatação do tempo, a espaçonave retornará depois de dois meses e encontrará a Terra quatro meses mais velha. Talvez não seja muito, pode ser tolerado, vocês poderiam pensar, mas não é assim. Os membros da tripulação estão fora de fase. Sentem que tudo em torno deles envelheceu dois meses com relação a eles próprios. E, o que é ainda mais sério, a população dum modo geral sentirá que eles estão dois meses mais jovens do que deveriam estar, o que criará ressentimentos e mal-estar.
— Similarmente, se o efeito endocrônico avançar um pouco além do efeito de dilatação do tempo, talvez a espaçonave retome dois meses depois a uma Terra que não experimentou o transcorrer de nenhum período de tempo. Os ressentimentos e o mal-estar ainda persistirão.
— Não, diplomandos, nenhum voo interestelar será considerado bem sucedido na frota estelar até que a duração de tempo para a tripulação e para a Terra se ajustem em cada minuto. Um desvio de sessenta segundos é um trabalho mal feito que não lhes trará nenhum mérito. Um desvio de cento e vinte segundos não será tolerado.
— Sei perfeitamente, diplomandos, que perguntas estarão cruzando suas mentes. Também cruzaram minha mente, quando me formei: Não temos na espaçonave endocrônica o equivalente de uma máquina do tempo? Não podemos, mediante adequação do maquinismo endocrônico, viajar deliberadamente um século dentro do futuro e em seguida voltar um século dentro do passado para retornar ao ponto de partida? Ou, vice-versa. Não poderemos entrar um século no passado e depois voltar ao futuro, ao ponto de partida? Ou um milhar de anos, ou bilhões? Não poderíamos testemunhar o nascimento da Terra, a evolução da vida, o desaparecimento do sol?
— Diplomandos, os joãozinhos da matemática dizem-nos que este tipo de coisas gera paradoxos e exige excessiva energia para ser prático. No entanto, eu digo a vocês: Pro inferno com os paradoxos! Não podemos fazê-lo por uma razão muito simples: as propriedades endocrônicas são instáveis. As moléculas que se entrelaçam na dimensão temporal são realmente muito sensíveis. Efeitos relativamente insignificantes originarão alterações químicas que darão lugar ao seu enfraquecimento. Mesmo que não haja nenhum efeito, vibrações casuais produzirão as alterações que as enfraquecerão.
— Em resumo, uma espaçonave endocrônica aos poucos se tornará isocrônica e se transformará em matéria comum sem entrar na extensão do tempo. A tecnologia moderna tem conseguido reduzir enormemente o enfraquecimento e talvez o reduza ainda mais, mas, tudo o que fizermos, diz a teoria, nunca conseguirá criar uma molécula endocrônica realmente estável.
— Isto significa que a sua espaçonave estelar tem uma existência muito limitada. Deve retornar à Terra enquanto sua endocronicidade durar, e a endocronicidade deve ser restaurada antes da viagem seguinte.
— E então, o que acontece se vocês voltarem fora de tempo? Se não estiverem bem próximos do seu tempo real, não terão garantias de que o estado da tecnologia será tal que permita que vocês reendocronizem suas espaçonaves. Talvez tenham sorte, se estiverem no futuro, mas terão muito azar se estiverem no passado. Se, por descuido de sua parte, ou por mera imperícia, recuarem substancialmente no passado, certamente ficarão encalhados lá, porquanto não haverá meio de dar ao seu veículo espacial um tratamento que o traga de volta ao que então será o futuro.
— Desejo que compreendam, diplomandos — ao dizer isto bateu palmas, como que para enfatizar as palavras — não existe tempo no passado em que um oficial astronauta civilizado gostaria de passar a vida. Vocês poderiam, por exemplo, perder-se na França do século sexto ou, pior ainda, na América no século vinte.
— Contenham-se, pois, e não cedam a qualquer tentação de fazer experiências com o passado.
— Vamos, agora, passar adiante, para um ponto que possivelmente só foi sugerido nos seus dias formais de estudo, mas que é algo por que passarão.
— Talvez imaginem como é que núcleos atômicos endocrônicos relativamente raros colocados aqui e acolá na matéria, que é esmagadoramente isocrônica, podem conseguir arrastar tudo consigo. Por que um núcleo endocrônico, correndo para a água, leva consigo quatrilhões de átomos com núcleos isocrônicos? Achamos que tal não deveria acontecer, mercê de nossa experiência de toda uma existência com a inércia.
— Não existe, porém, inércia no movimento em direção ao passado ou futuro. Se uma parte de um objeto se desloca para o passado ou para o futuro, a outra parte do objeto faz o mesmo, precisamente com a mesma velocidade. Não existe nenhum fator-massa. Por isso é que é tão fácil que todo o universo recue no tempo da mesma forma que uma única espaçonave se move para a frente — e ao mesmo ritmo.
— Mas a coisa é mais complexa do que isso. O efeito de dilataçâo no tempo é o resultado de sua aceleração em relação ao universo, de um modo geral. Vocês aprenderam isso, nos primeiros estágios escolares, quando estudaram física elementar relativista. Faz parte do efeito da Inércia de aceleração.
— No entanto, com a utilização do efeito endocrônico, anulamos o efeito dilatação-tempo. Se eliminarmos o efeito de dilatação no tempo, estaremos então, por assim dizer, eliminando aquilo que o produz. Em resumo, quando o efeito endocrônico se equilibra perfeitamente com o efeito de dilatação-tempo, o efeito de aceleração da Inércia termina.
— Vocês não podem cancelar um efeito de inércia sem cancelar todos eles. A inércia é pois eliminada totalmente e então vocês podem acelerar a qualquer ritmo sem senti-la. Assim que o efeito endocrônico esteja bem ajustado vocês podem acelerar de uma posição de repouso em relação à Terra até 186.000 milhas por segundo, com relação à Terra, em qualquer ponto entre algumas horas para poucos minutos. Quanto mais talentosos e hábeis vocês forem no manejo do efeito endocrônico, mais rapidamente podem acelerar.
— Vocês estão passando por isso agora, senhores. Aparentemente, estão sentados num auditório na superfície do planeta Terra, e tenho certeza de que nenhum de vocês teve razão ou ocasião para duvidar da verdade dessa impressão. Mas nem por isso deixa de ser um engano.
— Estão num auditório, admito, mas não na superfície do planeta Terra; não mais. Vocês eu... todos nós — estamos numa grande espaçonave, que decolou no momento em que iniciava este discurso e que está em grande aceleração. Alcançamos as periferias do sistema solar enquanto estávamos conversando e agora estamos retornando.
— Em nenhum momento qualquer um de vocês sentiu a aceleração, quer através da mudança de velocidade, quer no rumo de viagem, ou ambos, e, portanto, todos acharam que estavam em repouso em relação à superfície da Terra.
— Absolutamente, diplomandos. Vocês têm estado no espaço o tempo todo em que estive falando e passaram, de acordo com cálculos, a uma distância de dois milhões de milhas do planeta Saturno.
Ele pareceu austeramente feliz com a comoção que percorreu o auditório.
— Não precisam se preocupar, diplomandos. De vez que não experimentamos nenhum efeito da inércia, também não sofremos qual quer efeito da gravidade (os dois são essencialmente os mesmos), de modo que o nosso roteiro não foi afetado por Saturno. Retornaremos a qualquer momento à superfície da Terra. A convite especial aterraremos no Espaçoporto das Nações Unidas em Lincoln, Nebrasca, e vocês estarão livres para desfrutar os prazeres da metrópole no fim de semana.
— lncidentalmente, o simples fato de não termos sofrido os efeitos da inércia, em nenhuma de suas modalidades, mostra perfeitamente que o efeito endocrônico adaptou-se ao efeito de dilatação no tempo. Se tivesse havido qualquer desencontro, mesmo muito pequeno, vocês teriam sentido os efeitos da aceleração — outra razão para não empreenderem qualquer esforço no sentido de fazerem experiências com o tempo.
— Lembrem-se, diplomandos, um desencontro de sessenta segundos é uma falha, e um desencontro de cento e vinte segundos é intolerável. Estamos prestes a aterrar. Tenente Prohorov, queira assumir o controle na torre blindada e supervisionar a aterragem -
Prohorov disse com vivacidade:
— Sim, senhor — e subiu a escada dos fundos da sala de reuniões, onde estivera sentado.
O Almirante Vernon sorriu:
— Queiram todos permanecer sentados. Estamos na rota certa. Minhas espaçonaves estão sempre na rota certa.
Logo Prohorov desceu novamente e, correndo pela ala, aproximou-se do Almirante. Achegando-se a ele, disse baixinho:
— Almirante, se isto é Lincoln, Nebrasca, algo está errado. Só consigo ver índios, hordas de índios. Índios no Estado de Nebrasca agora Almirante?
O Almirante Vernon empalideceu profundamente e de sua garganta saiu um som como o de uma matraca. Rodopiou e caiu, enquanto a classe de diplomandos se levantava incertamente. Ensign Peet havia seguido Prohorov até o pódio e ouvira suas palavras. Naquele momento estava lá em pé, como que fulminado por um raio.
Prohorov ergueu os braços:
— Está tudo em ordem, senhores e senhoras. Calma. O Almirante acaba de ter um momentâneo ataque de vertigem. Acontece em aterragens, às pessoas idosas.
Peet cochichou asperamente:
— Mas estamos encalhados no passado, Prohorov.
Prohorov ergueu as sobrancelhas:
— Claro que não! Você não sentiu nenhum efeito da inércia, sentiu? Não podemos estar sequer uma hora recuados no tempo. Se o Almirante tivesse um pouquinho de cérebro, que combinasse com a farda, também ele o teria percebido. Ele mesmo havia dito isto, santo Deus!
— Então, por que você disse que havia algo errado? Por que afirmou que existiam Índios lá fora?
— Porque existiam e existem. Quando o Almirante Intelectual voltar a si, não poderá fazer nada contra mim. Não descemos em Lincoln, Nebrasca, de forma que houve realmente algo errado. Quanto aos Índios — bem, se li corretamente os sinais do tráfego, descemos nos arredores de Calcutá.
A antologia de Harry Harrison, em que apareceu “Tiotimolina para as Estrelas” foi intitulada Astounding simplesmente. Havia sido intenção de Harry torná-la o último número daquela revista. Não Analog, como agora, mas Astounding.
Não há nada errado com Analog, mas para nós, os veteranos, nenhum homem pode substituir Astounding em nossos corações.
Na primavera de 1973, The Saturday Evening Post, tendo reeditado algumas de minhas histórias curtas, solicitou-me que lhes escrevesse uma peça original. Em 3 de maio de 1973, apanhado nas garras da inspiração, escrevi “Versos na Luz” (“Light Verse”), numa rápida sessão na máquina de escrever e quase não troquei palavras na preparação da cópia final. Apareceu no número de setembro- outubro de The Saturday Evening Post.
Versos na luz
A última pessoa deste mundo que alguém julgaria um criminoso era a sra. Avís Lardner. Viúva do grande mártir da Astronáutica, era filantropa, colecionadora de arte, uma extraordinária anfitriã e, todos concordavam, um gênio artístico. Acima de tudo, era o mais gentil e bondoso ser humano que se podia imaginar.
O marido, William J. Lardner, morreu, como todos sabemos, devido aos efeitos da radiação da luz solar, após ter deliberada- mente permanecido no espaço, a fim de que uma espaçonave de passageiros pudesse levar seu veículo espacial em segurança à Estação Espacial nº 5.
Por isso a sra. Lardner havia recebido uma generosa pensão, a qual investira bem e com muita sabedoria. Ao fim da meia-idade, estava rica.
Sua casa era uma espécie de exposição permanente, um verdadeiro museu, contendo uma coleção de lindas joias, pequena, porém de extremo bom gosto. De uma dúzia de diferentes culturas havia conseguido relíquias de quase toda peça de artesanato concebível que pudessem ser engastadas de joias para servir à aristocracia daquela mesma cultura. Possuía um dos primeiros relógios de pulso, adornado de pedras preciosas, fabricado na América, uma adaga encrustada de pedras preciosas, procedente do Camboja, um par de óculos, decorado com joias, vindo da Itália, e assim por diante, interminavelmente.
Tudo estava aberto ao público. As peças de artesanato não estavam no seguro, e não havia nenhuma providência comum no sentido de garanti-las. Não havia a necessidade de nada convencional, porquanto a sra. Lardner mantinha um corpo de auxiliares, constituído de robôs-servos, a cada um dos quais podia se confiar a guarda de cada um dos objetos, tendo eles imperturbável concentração, irrepreensível honestidade e irrevogável eficiência.
Todos sabiam da existência dos robôs e não há registro de ter algum dia ocorrido alguma tentativa de furto.
E havia também, é claro, sua escultura-luz.
Como a sra. Lardner descobriu seu próprio gênio para a arte, nenhum convidado de suas pródigas reuniões conseguia adivinhar.
Contudo, em cada ocasião, quando a sra. Lardner abria a casa para os convidados, unia nova sinfonia de luz percorria os aposentos de um lado ao outro; três curvas dimensionais e sólidas, numa mescla de cores, algumas puras, outras misturadas, em surpreendentes efeitos cristalinos que mergulhavam no assombro cada convidado, e que se ajustavam por si mesmos, de forma a embelezar os cabelos macios e azulados e o rosto de contornos pouco definidos da sra. Lardner.
Era por causa da escultura-luz, mais do que por qualquer outra coisa, que os convidados apareciam. Nunca era o mesmo duas vezes, e nunca deixava de explorar novos enfoques da arte.
Muitas pessoas que podiam comprar consolo-luz preparavam esculturas-luz por diversão, mas ninguém chegava nem de longe a igualar a perícia da sra. Lardner. Nem mesmo aqueles que se consideravam artistas profissionais.
Ela mesma era encantadoramente modesta a respeito disso. — Não, não — dizia ela, quando alguém ressudava lirismo. — Eu não a denominaria “poesia na luz”. Isto é ser bondosa demais. No máximo, eu diria que se trata de meros “versos na luz” — e todos sorriam da sutil tirada de espírito.
Embora fosse solicitada frequentemente a fazê-lo, jamais criava “escultura-luz” em outras ocasiões, salvo em suas próprias festas.
— Seria comercialização — costumava dizer.
Contudo, não objetava à preparação de elaborados hologramas de suas esculturas, de forma que se tornassem permanentes e fossem reproduzidos em todos os museus do mundo. Tampouco nunca cobrou nada pelo uso que pudesse ser feito de suas “esculturas luz”.
— Eu não teria coragem de cobrar um centavo — dizia ela, abrindo bem os braços. — É de graça para todos. Afinal de contas, eu mesma a uso durante pouco tempo.
Era verdade, ela nunca utilizava duas vezes a mesma “escultura- luz”.
Ela própria cooperava quando eram feitos os hologramas. Observando benignamente cada etapa, estava sempre pronta a mandar que os robôs ajudassem.
— Por favor, Courtney — quer ter a bondade de ajustar a escadinha?
Era o seu estilo. Sempre se dirigia aos robôs com a mais formal das cortesias.
Certa ocasião, há muitos anos, quase fora repreendida por um funcionário federal do Escritório de Robôs e Homens Mecânicos:
— Não pode fazer isto — disse ele severamente. — Isso interfere na eficiência deles. São construídos para cumprir ordens e quanto mais claramente lhes der ordens, mais eficientemente as cumprirão. Quando pede com elaborada polidez, compreendem com dificuldade que está sendo dada uma ordem. Reagem mais lentamente.
A sra. Lardner ergueu a aristocrática cabeça:
— Não exijo rapidez e eficiência — disse ela. — Peço boa vontade. Meus robôs me amam
O funcionário poderia ter explicado que robôs não podem amar, mas murchou sob o olhar ofendido, ainda que meigo, dela.
Era fato conhecido de todos que a sra. Lardner jamais remeteu um robô à fábrica para ajustamentos. Seus cérebros positrônicos eram de enorme complexidade, e quando saem da fábrica um em dez não está perfeitamente regulado. As vezes o desajuste não se revela durante um período de tempo, mas sempre que um engano se manifesta, a U. 5. Robôs e Homens Mecânicos, Inc., efetua a correção gratuitamente -
A sra. Lardner sacudiu a cabeça:
— A partir do momento em que o robô está em minha casa — disse — e cumpre com seus deveres, as excentricidades secundárias devem ser toleradas. Não permitirei que seja maltratado.
Era a pior coisa possível tentar explicar que uni robô era apenas uma máquina. Ela dizia inflexivamente:
— Nada que seja tão inteligente como um robô pode ser apenas uma máquina. Trato-os como gente.
E pronto!
Ela conservava até mesmo Max, embora fosse quase inútil. Mal se podia compreender o que se esperava dele. Contudo, a sra. Lardner dizia energicamente:
— Absolutamente — dizia firmemente — ele é capaz de pegar e guardar chapéus e casacos perfeitamente. Segura objetos para mim. Sabe fazer muitas coisas.
— Mas por que não manda regulá-lo? — perguntou um amigo certa ocasião.
— Oh, eu não teria coragem. Ele é ele mesmo. É muito amável, sabe? Afinal de contas, um cérebro positrônico é tão complexo que ninguém consegue saber onde está enguiçado. Se fosse ajustado para a perfeita normalidade, não haveria meios de recuperá-lo para a amabilidade que possui agora. E eu não quero desfazer-me dele.
— Mas, se ele está mal regulado — disse o amigo, olhando nervosa mente para a sra. Lardner — não poderá ser perigoso?
— Nunca — a sra. Lardner deu uma risada. — Tenho-o há anos. É completamente inofensivo e é um amor.
Na verdade, ele tinha a mesma aparência de todos os outros robôs: liso, metálico, vagamente humano, mas inexpressivo.
Contudo, para a bondosa sra. Lardner, todos eram gente, pessoas, todos meigos, todos adoráveis. Ela era assim.
Como poderia cometer um crime?
A última pessoa que alguém esperaria que fosse assassinado seria John Semper Travis. Introvertido e de modos suaves, estava no mundo, mas não pertencia a ele. Possuía aquele peculiar talento para a Matemática que lhe tornava possível resolver mentalmente o complexo entrelaçamento de uma miríade de circuitos positrônicos cerebrais da mente de um robô.
Era o engenheiro-chefe da U. S. Robôs e Homens Mecânicos, Inc.
Mas era também um entusiasmado amador em “escultura-luz”. Havia escrito um livro sobre a matéria, no qual tentava mostrar que o tipo de Matemática que utilizava para resolver problemas de circuitos de cérebros positrônicos poderia ser modificado para servir de guia na produção da estética da “escultura-luz”.
No entanto, sua tentativa de colocar a teoria em prática foi um fracasso desanimador. As esculturas que produziu, segundo seus princípios matemáticos, eram pesadas, mecânicas e sem interesse.
Era a única razão de infelicidade em sua vida tranquila, introvertida e segura, no entanto era razão suficiente para sentir-se profundamente infeliz. Ele sabia que suas teorias eram corretas, se bem que não conseguisse pô-las em ação. Se não conseguisse produzir uma boa peça de “escultura-luz”...
Naturalmente, estava a par da “escultura-luz” da sra. Lardner. Ela era universalmente aplaudida como um gênio, muito embora Travis soubesse que era incapaz de compreender mesmo o mais simples aspecto da matemática dos robôs. Havia trocado correspondência com ela, mas ela recusava-se obstinadamente a explicar seus métodos, levando-o a perguntar-se se ela possuía mesmo algum. Não seria mera intuição? — mas mesmo a intuição pode ser reduzida à matemática. Finalmente, ele conseguiu receber um convite para uma das festas. Precisava avistar-se com ela a todo custo.
O sr. Travis chegou bem tarde. Havia feito uma última tentativa com uma peça de “escultura-luz”, que resultara num fracasso desalentador.
Cumprimentou a sra. Lardner com uma espécie de enigmático respeito e disse:
— Estranho aquele robô que pegou meu chapéu e casaco.
— Aquele é Max — disse a sra. Lardner.
— Está muito desregulado e é um modelo bem antigo. Por que razão não o manda para a fábrica?
— Oh, não — disse a sra. Lardner — seria demasiado trabalho.
— De modo nenhum, sra. Lardner — disse Travis. — A sra. ficaria surpresa com a simplicidade do trabalho. De vez que sou da U. S. Robôs, tomei a liberdade de ajustá-lo pessoalmente. Não levou tempo e a sra. verá que ele está agora em perfeitas condições de funcionamento.
Uma estranha mudança ocorreu no rosto da sra. Lardner. A fúria estampou-se nele pela primeira vez em sua existência sossegada. Era como se os traços fisionômicos não soubessem qual posição tomar.
— Ajustou-o? — perguntou com voz fina e aguda. — Mas foi ele que criou as minhas “esculturas-luz”. Foi o ajustamento defeituoso, o desajuste, que você jamais conseguirá restaurar.. aquele... aquele...
Foi uma grande desgraça que ela estivesse mostrando sua coleção naquele momento e que a adaga com cabo cravejado com pedras preciosas, procedente do Camboja estivesse sobre o tampo de mármore na mesa em frente dela.
A fisionomia de Travis também se distorceu:
— A sra. quer dizer que, se eu tivesse estudado o estranho cérebro positrônico dele, eu poderia ter aprendido...
Ela avançou com a faca com demasiada rapidez para alguém detê-la. Ele não tentou se esquivar ao golpe. Há quem diga que foi ao encontro da faca — como se quisesse morrer.
Ao enviar a história ao The Saturday Evening Post, estava ansioso por deixar bem claro que não lhes havia remetido uma história antiga. Expliquei-lhes com um pouco de ênfase que “a havia escrito naquele dia”.
Ao fazê-lo, esquecera-me do preconceito das pessoas com relação a qualquer história que é redigida rapidamente. Há a lenda de que uma boa história tem de ser escrita e reescrita e que deve levar dias e mais dias de agonia em cada parágrafo penosamente arrasado. Penso que os escritores espalham essa espécie de exagero com o fito de ganhar a simpatia do público.
De qualquer forma, eu não escrevo devagar, mas escritores que não têm muita experiência comigo não se dão conta disso. Recebi uma carta do Post, que falava com muito entusiasmo da história e expressava enorme assombro por eu ter conseguido escrevê-la em um dia. Eu fiquei calado.
Posso, entretanto, contar a vocês, pois são meus amigos. Do momento em que me sentei à máquina de escrever até o momento em que coloquei o envelope na caixa do correio não decorreu exatamente um dia. Foram apenas duas horas e meia. Mas não contem ao Post.
Bem, o que resta então para pô-los a par das últimas novidades?
Bem, em 30 de novembro de 1973 casei-me pela segunda vez. Minha esposa é Janet Jeppson. É psiquiatra, escritora, e uma mulher maravilhosa, pela ordem crescente de importância. Escreveu sozinha uma novela de ficção científica, “A Segunda Experiência” e recebeu a palavra final de aceitação da novela em 30 de novembro de 1973, meia hora depois de estarmos casados. Foi um grande dia.
Eu, por mim, desejo que sua carreira profissional lhe deixe um pouco mais de tempo para escrever. Então, poderíamos, talvez, algum dia, elaborar uma coleção “marido-mulher”.
Isaac Asimov
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















