



Biblio VT




Folheando distraidamente um jornal deparou-se-me um nome conhecido — Konovalov — acerca do qual se relatava o seguinte:
Suicidou-se um homem no cárcere, por enforcamento, Alexandre Ivanovitch Konovalov, de quarenta anos de idade e natural de Murom. Fora detido em Pskov como vagabundo, seguindo depois por estações à sua terra natal. Os informes do diretor da prisão dão-no como um homem pacífico e sonhador. Segundo o médico, deve atribuir-se o suicídio a um acesso de melancolia.
Lida esta notícia lacónica, impressa em carateres miudinhos — a morte dos pobres anuncia-se sempre em tipo pequeno — comecei a pensar que aquilo não exprimia o motivo essencial que impelira aquele homem a desprender-se da vida. Conhecera-o, vivera muito tempo com ele e nem tinha talvez o direito de deixá-lo no olvido. Era tão bom rapaz, um caráter dos que é tão raro encontrar...
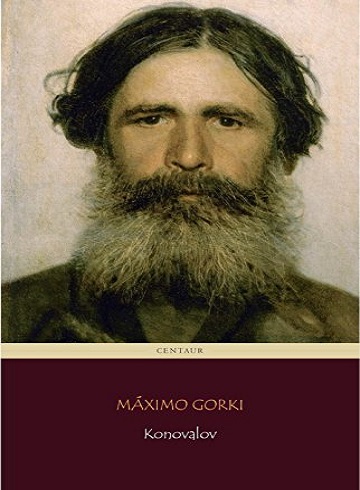
Tinha dezoito anos quando conheci Konovalov.
Naquela época trabalhava eu numa atafona como ajudante do amassador. Era este um antigo músico militar, empunhando o cotovelo de um modo alarmante, à laia de quem toca enquanto lhe durava a bebedeira. Deixava frequentemente estragar a massa, e quando o dono se queixava deste desmazelo ou ainda porque não cozesse o pão a tempo, punha-se furioso, insultava-o de um modo abominável, falando constantemente no seu extraordinário talento musical.
— Queixas-te de ter deixado secar a massa? — gritava ele com os bigodes vermelhos, agitando os lábios grossos e sempre húmidos. — Não levedou bem o pão? Queimou-se? Que tenho eu com isso, grande estúpido? Julgas que nasci para tal trabalho? Maldito seja este serviço. Sabes? Sou músico. Quando o trompa bebia demais, tocava eu por ele; acontecia o mesmo com o cornetim; adoecia, quem é que o substituía? Sutchkov! Presente, meu capitão! Tra-lá-ra-lá. Paga-me, grande animal, e vai para o diabo.
O patrão, um homenzinho rechonchudo e doentio, com os olhos quase completamente ocultos pelas sobrancelhas e uma cara simples de mulher, balanceava a barriga enorme e batia furiosamente os pés no chão, gritando em voz de falsete:
— Bandido! Assassino! Judas! Traidor! Oh, meu Deus, porque permitis este homem aqui?
De braços erguidos e mãos abertas, ameaçava com voz aguda e irritante:
— E se te fizesse conduzir à esquadra?
— À esquadra, um súbdito do Czar! Um defensor da pátria? — gritava o soldado com o punho ameaçador.
O patrão retrocedia, vomitando injúrias. Era tudo quanto podia fazer, pois que no verão é muito difícil achar amassadores nas margens do Volga.
Quase todos os dias se repetiam estas cenas. O soldado estragava a massa, assobiando marchas e valsas, «números», como orgulhosamente dizia.
O amo rangia os dentes; e por causa disto tudo tinha eu que trabalhar por dois, o que me não era nada agradável.
O certo é que senti um grande alívio no dia em que se passou a cena seguinte:
— Eh, soldado! — disse o patrão com um sorriso mau. — Podes deixar o emprego e tocar o «ordinário-marche»!
— O que sucede? — perguntou o músico que, segundo o seu costume, estava entre Pinto e Valdemoro.
— Toca a marchar para a guerra, cabo! — exclamou o patrão triunfante.
— Que dizes? — exclamou o outro, palpitando-lhe uma má nova.
— Que te ponhas a andar contra os turcos ou contra os ingleses, conforme te agradar mais.
— Mas explica-te!
— Que não estás nem mais uma hora em minha casa. Sobe para receberes o que te devo e toca a andar!
O soldado sabia que o patrão o conservava contra sua vontade por não achar quem o substituísse. Aquela notícia dissipou-lhe a bebedeira; percebeu que não tinha outro remédio senão procurar colocação.
— Mentes — disse furioso, levantando-se.
— Vai-te, vai-te finalmente, de uma vez.
— Ir-me embora, eu?
— Sim, procura lugar.
— Isto quer dizer que já trabalhei bastante — replicou o soldado com amargura. — Chupaste-me o sangue todo e agora despedes-me! Vampiro!
— Vampiro, eu?
O patrão enfurecera-se.
— Sim, sim, maldita aranha, chupaste-me o sangue todo — insistiu o soldado, dirigindo-se para a porta com passo mal seguro.
O patrão sorria maliciosamente com um fulgor de júbilo no olhar.
— Anda, procura agora lugar! Dei tão boas informações da tua pessoa que não acharás ninguém que te queira receber. É para saberes que não me esqueço facilmente de ti.
— Então arranjou um novo amassador? — perguntei por minha vez.
— Arranjei, sim; mas um homem que sabe do ofício. Não pode haver melhor oficial! Foi meu ajudante. Às vezes embebeda-se também... Mas pegando no trabalho tenho-o seguro três ou quatro meses. Não se cansa, não se detém um momento, nem repara no ordenado; e canta. E canta de tal modo, meu rapaz, que nos enternecemos a ouvi-lo. Mas o pior é começar depois a beber.
O homem suspirou, fazendo um gesto de enfado.
— Quando começa a beber não há quem lhe tenha mão. Bebe até ter gasto tudo ou cair doente. Então arrepende-se, sente-se envergonhado e desaparece. Olha, ei-lo que aí vem! Vens já para ficar, Sacha?
— Sim — replicou uma voz à entrada.
Junto ao umbral da porta estava um homem dos seus trinta anos, alto e membrudo. O seu traje indicava um perfeito vagabundo; pela aparência e fisionomia conhecia-se ser um eslavo de raça apurada. Tinha os cabelos castanhos, emaranhados coma floresta. A grande barba ruiva caía-lhe num grande desalinho para o peito, dando-lhe um ar soberbo de livre e insubmisso. No rosto em oval, muito pálido e abatido, brilhavam-lhe os olhos azuis, grandes e sonhadores que me fixavam com benevolência. Os lábios, muito brancos, sorriam-lhe por debaixo do bigode, parecendo dizer: «Veem como sou... Não me censurem por isso».
— Vem, Sacha, aqui tens o teu futuro ajudante — dizia o patrão, esfregando as mãos de contentamento e contemplando a robusta pessoa do seu amassador.
Este adiantou-se silenciosamente e saudou-me, estendendo-me a mão. Depois, sentando-se, alongou as pernas e disse examinando-se:
— Nicolau, tens que me comprar duas blusas, um par de calças e fazenda para um gorro.
— Terás tudo o que necessitares. Esta noite dar-te-ei o que desejas. Podes começar a trabalhar; já sei quem és. Não te tratarei mal nem haverá aqui quem ofenda Konovalov porque ele a ninguém ofendeu ainda. Achas que sou um bárbaro? Não, decerto. Passei também a mesma vida de trabalho e sei que às vezes há momentos muito duros de tragar. Bem, fiquem com Deus, filhos, vou-me embora.
Konovalov sentou-se num banco, lançando a vista em redor silenciosamente. O forno era no sótão e as três janelas que havia abriam-se muito em baixo ao nível da rua. Corria pouco ar e tinha pouca luz; em compensação abundava a humidade, a porcaria e o pó de farinha.
Ao longo da parede havia três grandes cacifos; um continha a massa, outro a farinha e o terceiro estava vazio. Caía sobre eles um fio de luz ténue vinda das janelas. Uma estufa enorme ocupava quase um terço da casa; no solo muito sujo, amontoavam-se sacos de farinha; e no forno ardiam troncos enormes, cuja chama agitada se refletia na parede. Causava náuseas o cheiro da levedura e da humidade.
O teto abobadado e escurecido pelo fumo parecia esmagar-nos naquele antro, tão baixo era. A luz do dia com a claridade do forno produzia uma ofuscação fatigante para os olhos. Vinha da rua um ruído confuso de mistura com grandes nuvens de poeira.
Konovalov olhou para aquilo tudo e lentamente perguntou com voz amargurada:
— Há muito que trabalhas aqui?
Respondi-lhe. Calámo-nos um momento, olhando-nos de revés.
— Que cárcere! — suspirou. — Vamo-nos sentar à porta?
Fomos e instalámo-nos num banco.
— Aqui ao menos respira-se. Dificilmente me acostumarei a essa cova. Não posso... Imagina que venho do mar. Trabalhei no Cáspio como descarregador. Vir daquela imensidade para um buraco destes...
Contemplou-me tristemente e pôs-se depois a examinar os transeuntes. Lia-se-lhe nos olhos errantes a incomensurável tristeza dos nostálgicos. Ia anoitecendo. O ar pesava. As sombras dos edifícios escureciam melancolicamente a rua. Konovalov permanecia sentado, com as costas apoiadas à parede, acariciando a barba suavemente. Observando de perfil a sua fisionomia triste e muito pálida perguntava a mim próprio: «Que espécie de homem será este?» Não me atrevia, porém, a iniciar a conversa por uma deferência respeitosa para com aquele homem que considerava como meu chefe.
Sulcavam-lhe o rosto três rugas muito finas, que em certas ocasiões se tornavam mais profundas, devido talvez a muito graves pensamentos.
— Vamos, devem ser horas de preparar a terceira fornada. Tu amassarás a segunda, eu arranjarei a terceira; em seguida faremos ambos os pães.
Depois de pesada e distribuída uma montanha de massa, preparada a segunda fornada e posta a levedura para outra, fomos tomar o chá. Metendo então a mão num dos bolsos da blusa, Konovalov perguntou-me:
— Sabes ler? Toma, lê isto.
Deu-me um papel muito sujo e amarrotado onde li o seguinte:
Querido Sacha,
Saúdo-te e abraço-te. Aborreço-me muito e levo todo o tempo a pensar no dia em que poderei ir ter contigo para vivermos juntos. Esta maldita vida de que tanto gostei a princípio torna-se-me agora insuportável. Escreve-me depressa: anseio saber notícias tuas. Não te digo adeus, mas até à vista, barbudo amigo da minha alma. Não te censuro, grande ingrato, embora tenha motivos para isso, partindo sem me dizeres para onde te destinavas. Apesar de tudo foste bom para comigo, foste o primeiro homem que me tratou bem, e não posso por isso olvidar-te. Não poderias tu, Sacha, libertar-me desta vida quanto mais depressa melhor? As minhas companheiras mentiram quando te disseram que eu te abandonaria se fosse livre; não creias nas suas palavras. Se te compadeceres de mim, ser-te-ei fiel como um cão. Para ti é fácil fazer o que te peço. Quando vieste ver-me, chorei pensando que tinha de continuar tal vida; nada te disse, porém. Até à vista.
Tua,
Capitolina.
Konovalov pegou na carta e, revirando-a com ar pensativo, perguntou-me:
— Sabes escrever?
— Sei.
— Tens tinteiro?
— Tenho.
— Escreve-me então uma carta. há de ela imaginar que sou canalha... que a esqueci já... Escreve, anda.
— Agora, mesmo, se queres. Quem é ela?
— Uma moça da vida... Vês que ela mesmo fala em resgatar-se. Isso significa que casarei com ela. Devolver-lhe-ão depois o passaporte, retirar-lhe-ão a caderneta e ficará livre... Compreendes?
Ao cabo de meia hora estava escrita uma carta comovedora.
— Lê! — exclamou Konovalov com impaciência. — Diz-me o que puseste aí.
Li-lhe então a carta:
Não julgues que te esqueci, Capa, nem imagines que sou um canalha. Não, não te esqueci; mas bebi demais e não tenho um cêntimo meu. Felizmente estou já colocado. Vou pedir dinheiro ao patrão; enviá-lo-ei a Filipe para tratar do resgate. Terás o suficiente para fazeres a viagem. Até à vista.
Teu,
Alexandre.
— Hum! — exclamou Konovalov, coçando a cabeça. — Não escreves lá muito bem; não há bastante sentimento na carta, não há lágrimas. Tinha-te dito que me injuriasses e não puseste isso na carta.
— Para quê?
— Para que ela veja que me envergonho do meu procedimento e que compreenda que reconheço ter faltado ao que prometi. Em resumo, escreveste uma carta banal, sem nenhum sentimento. Põe pelo menos algumas lágrimas.
Foi preciso pôr lágrimas na carta, o que consegui com grande êxito. Konovalov ficou muito satisfeito e, pondo-me a mão no ombro, disse-me com voz profunda e amigável:
— Obrigado! Vejo que és um excelente rapaz... Seremos bons camaradas.
Pedi-lhe que me falasse de Capitolina.
— Capitolina? É uma moça. Filha de um comerciante de Viatka, teve um dia um descuido e logo no outro foi parar a uma casa... Sabes! Fui lá por acaso e encontrei-me com uma criança, uma verdadeira criança. «É possível, meu Deus?» dizia-me ela com as lágrimas nos olhos, ouvindo as minhas propostas. Prometi resgatá-la, dizendo-lhe: «Tem paciência, espera, hei de resgatar-te daqui». Tinha já tudo preparado, até dinheiro... Comecei, porém, a beber e, não sei como, achei-me em Astrakan. Vim depois para aqui. Soube provavelmente que eu tinha partido para Astrakan e para ali me escreveu a carta que acabaste de ler...
— E queres então casar-te? — perguntei.
— Eu? Como é que poderia fazê-lo? Que excelente noiva não dava! Não, não se trata disso. Resgato-a, depois de que se governe e arranje uma colocação. Reintegro-a na sua qualidade de ser humano.
— Mas ela diz que virá ter contigo.
— Loucura. São todas assim... Conheço-as bem. Tenho-as tido de todas as castas. Uma era tendeira e muito rica. Era eu então criado de circo. Um dia reparou em mim e disse-me: «Vai amanhã a minha casa; tomar-te-ei para cocheiro». Como estivesse já aborrecido do circo consenti e fui. Começou então a seduzir-me. Viviam numa grande casa; tinham criados, cavalos e pareciam nobres. O marido era baixo e gorducho como o nosso patrão; ela era esbelta e graciosa como uma gata, muito turbulenta e viva. Recordo-me de quando me abraçava e beijava na boca; parecia que me deitava faíscas no coração. Ao beijar-me, estremecia toda e punha-se a chorar. «Porque choras?», perguntava eu. Respondia-me: «És uma criança, Sacha, não compreendes nada». Era uma mulher soberba. A verdade é que não percebo nada; sou muito estúpido, compreendo-me. Que fazer? Vivo assim indiferentemente, sem pensar em coisa nenhuma.
Calou-se. Nos seus olhos, que me fixavam, cheios de pasmo e de interrogação, havia não sei quê de ansioso e de sonhador que tornava a sua fisionomia mais bela e melancólica.
— E como acabaste com a tua tendeira?
— Olha, às vezes aborreço-me, sinto o tédio invadir-me como um grande pesadelo. Tudo se me torna odioso, tudo! Detesto-me a mim próprio e desejava que morressem todos os homens, que desaparecesse tudo o que me cerca. É este o motivo porque me embebedo. Dantes não bebia. Assim, enfastiando-me já dela, disse-lhe um dia: «Vera, deixa-me ir embora, não posso mais!» «Já estás cansado de mim?» E ria desalmadamente. «Não», disse-lhe eu, «não é porque esteja cansado de ti, é porque não posso comigo mesmo». A princípio não compreendeu; chegou a enfadar-me e a enfurecer-se... depois percebendo disse-me: «Bem, vai-te embora!» Chorou muito. Tinha os olhos negros e tez morena. O cabelo era negro e encrespado. Seu pai fora funcionário. Causava-me lástima e a mim próprio perguntava porque tinha cedido aos seus desejos. Não sei. Aborrecia-a o marido que era tal qual uma destas sacas de farinha. Como se tinha acostumado a mim, chorava muito por ter de deixar-me. Eu era muito carinhoso para ela. Tomava-a nos braços e embalava-a, vigiando-a depois com toda a solicitude enquanto dormia. Não imaginas como é belo um ser humano dormindo: respira e sorri. Quando habitávamos no campo fazíamos grandes passeios de carruagem. Gostava muito de ir a correr. Ao parar prendia o cavalo a uma árvore e deitávamo-nos na erva fresca. Fazia-me repousar a cabeça nos seus joelhos e lia, lia até reparar que eu tinha adormecido escutando-a. Eram tão bonitas as histórias que ela lia! Havia uma que nunca poderei esquecer: a do mudo Guerásimo e do seu fiel cãozinho. Era mudo e desgraçado: a ninguém queria senão ao cão. Que história tão triste! Ocorreu em tempos de escravatura. A senhora dizia-lhe: «Mudo, afoga o teu cão que ladra demasiadamente». E o mudo, tomando um bote, pegou no cão e foi-se... Ao chegar a certo ponto da narração tremia como se fosse eu que levassem a afogar. Que crueldade! Arrebatar a uma pessoa o único ente que a ama! É impossível viver sem um amor qualquer; é por isso que temos alma para amar... Como esta lia-me muitas outras histórias. Era uma grande mulher; sinto ainda a sua falta. Se não fosse a minha má sorte não a deixaria senão quando ela me mandasse embora ou quando o marido descobrisse as nossas relações. Era muito carinhosa... Não muito generosa; mas o seu coração era dócil. Primeira beijava-me com ardor, tiranicamente; depois tornava-se meiga e carinhosa, enternecendo-me como uma mãe. Naqueles momentos julgava-me uma criança de cinco anos. Apesar de tudo abandonei-a por causa deste aborrecimento mortal pelas coisas que me acomete. Existe alguma coisa que me arrasta não sei para onde. «Adeus, Vera Mikhailovna», disse-lhe, «não me fiques com ódio!» «Adeus, Sacha!» E tanta raiva se apoderou dela que, arregaçando-me o braço até ao cotovelo, fincou-me os dentes na carne como uma loba. Contive a muito custo um grito doloroso. Quase que me arrancou um pedaço de carne e durante três semanas estive doente do braço... Olha, repara na cicatriz...
E, descobrindo o seu braço de bogatyr branco e musculoso, mostrou-me o sinal com um riso sardónico. Na pele, próximo do cotovelo, estava marcada uma cicatriz em forma de dois semicírculos que quase se juntavam. Konovalov olhava e sorria, inclinando a cabeça.
— O demónio da mulher deixou-me uma recordação para sempre.
Eu tinha ouvido muitas histórias daquelas. Cada vagabundo possuiu uma «tendeira» ou uma «senhora nobre» que aparece sempre como um ser fantástico reunindo as mais contraditórias qualidades.
Um dia é morena e lânguida, no outro surge ruiva e lânguida.
A narração de Konovalov não me fez despertar desconfiança como sucedeu com tantos outros. Havia nele alguns detalhes verídicos: aquelas leituras em pleno campo e o epíteto de criança aplicado à formidável pessoa de Konovalov.
Imaginava uma mulher esbelta dormindo entre os seus braços com a cabeça apoiada no seu largo peito. A perfeição do rapaz convenceu-me da veracidade da narrativa. Além disso, a sua entonação triste evocando a imagem da «tendeira» não era ordinária nem imaginativa. Um verdadeiro vagabundo não é capaz de inventar tais coisas.
— Porque te calas? Julgas que te menti? — perguntou Konovalov com um acento de inquietação na voz.
Sentara-se sobre os sacos de farinha sustendo numa mão a xícara de chá e alisando a barba com a outra. Os seus olhos azuis interrogavam-me; tinham-se aprofundado as rugas da fronte.
— Crê que te disse a verdade. Que necessidade tinha de te mentir? Bem sei que todos os vagabundos inventam as suas histórias... Nem é possível suceder o contrário. Que mal faz que aquele que nada gozou deste mundo invente histórias que nunca lhe sucederam, talvez para se iludir a si próprio? Mente e acaba por acreditar nas suas próprias mentiras. Há muitos para quem essas ilusões constituem uma verdadeira vida. Mas, por minha parte, podes crer que te não menti. O que há de extraordinário no que te disse? Há mulheres que se aborrecem; tudo o que as rodeia se torna mesquinho e odioso. Bem sei que não passo de um cocheiro; mas para uma mulher, um cavaleiro, um oficial ou um cocheiro vem a dar tudo na mesma, são todos homens! Elas desejam uma e a mesma coisa, pagar menos do que devem. Um homem de ideias simples é muito escrupuloso. Ora eu sou muito simples. As mulheres compreendem isto, sabem que não as comprometerei e sobretudo que não abusarei da sua fraqueza. Quando uma mulher cai numa falta o que mais a preocupa é a consideração que lhe ligamos depois. São muito mais delicadas do que nós. Colhemos o que necessitamos e depois voltamos-lhes as costas, enquanto elas não sabem onde se hão de esconder, envergonhadas da sua queda. Acredita, irmão, as mais pervertidas são ainda muito melhores do que nós.
Konovalov contemplava-me com os seus olhos cândidos de criança, impressionando-me cada vez mais o tom elevado dos seus pensamentos. Parecia-me que uma suave brandura me envolvia o coração, já maculado para toda a minha vida.
A lenha ardia estrepitosamente no forno, e a clara montanha de brasas projetava na parede uma mancha avermelhada que oscilava continuamente.
Através da janela entrevia-se um bocado de céu azul com duas estrelas. Uma delas, muito grande, brilhava como uma esmeralda, a outra apenas se divisava como um pequenino ponto claro.
Ao cabo de uma semana éramos ambos amigos.
— Estou satisfeito contigo, és um excelente rapaz! — dizia, batendo-me familiarmente no ombro com a sua mão gigante.
Trabalhava como um verdadeira artista. Dava gosto vê-lo manejar um bloco de massa de sete puds e como o amassava em um dos cacifos, enterrando até ao cotovelo os seus braços poderosos nas massa elástica que rangia debaixo dos seus dedos de ferro.
A princípio, vendo-o deitar no forno os pães crus, que mal tinha tempo de ajeitar na pá, lembrava-me que se iriam amontoar uns sobre os outros; mas depois de tirar as três fornadas sem que nenhum dos cento e vinte pães se houvesse deformado, compreendi que estava em presença de um artista.
O trabalho atraía-o. Enquanto estava entretido esquecia tudo. Às vezes indignava-se contra o patrão por comprar farinha molhada; mas sentia-se satisfeito ao ver um pão bem cozido com a côdea dourada.
Gostava de ver aquele gigante preso à sua tarefa, com amor e dedicação, digno de ser imitado pelos outros homens.
Uma vez disse-lhe:
— Afirmaram-me que cantas muito bem, Sacha.
Konovalov baixou a cabeça, mal humorado.
— É verdade, canto umas vezes por outras.
— Quando nada tenho que fazer começo a aborrecer-me... e então é quando já não há remédio... o tédio devora-me. Se te lembrares de cantar, peço-te que o não faças na minha presença; assobia antes, que me não faz mal.
Algumas vezes, sem me importar com ele, cantava a meia voz amassando a farinha; Konovalov escutava-me impaciente e lembrava-me a minha promessa. Outras vezes dizia-me rudemente:
— Não estejas para aí a gemer, rapaz!
Um dia tirei um livro da minha maleta e, aproximando-me da janela, comecei a ler.
Konovalov, meio adormecido, abriu os olhos ouvindo o ruído das folhas agitadas.
— Que livro é esse? — perguntou.
Eram os Podlipovtsi.
— Porque não lês em voz alta?
Fiz-lhe a vontade. Inclinou-se com a cabeça quase apoiada nos meus joelhos, escutando atentamente a leitura.
Às vezes, reparando-lhe nos seus olhos, notava-lhe um fulgor extraordinário de interesse e curiosidade. Parece-me que estou sempre a vê-los: estavam muito abertos, ardentes e fixos... A boca entreaberta mostrava uma dupla fila de dentes muito brancos. Aquela atenção animava-me, procurando ler de um modo bem claro e dar relevo à triste história de Cissoiko e Pila.
Sentindo-me cansado, fechei o livro.
— Acabou-se?
— Não, falta ainda metade.
— És capaz de o ler todo em voz alta?
— Se fazes gosto nisso.
— Sim, faço.
Permaneceu em silêncio durante alguns momentos, percebendo que as impressões da leitura lhe agitavam interiormente os pensamentos.
— Que bem que tu lês! Imitas até as vozes. É como se as pessoas estivessem vivas. Aprouska grunhe, Pila... Imbecis! E o que é que sucede depois? A verdade é que são homens como nós, camponeses de carne e osso... Escuta, Máximo. Preparamos uma fornada e em seguida voltas a atacar a leitura.
Li como ele desejava durante quase duas horas. Tivemos de cuidar novamente do pão e da massa. Fazíamos tudo à pressa e silenciosamente.
Konovalov contemplava-me sentado num saco de farinha à laia de cavalo.
Ao romper do dia terminei a leitura. Konovalov parecia absorto.
— Estás satisfeito? — perguntei-lhe.
Abanou a cabeça e, levantando os olhos, interrogou-me em voz baixa:
— Quem escreveu isso?
Notava-se um grande assombro nos olhos de Konovalov, adivinhando-se neles uma grande curiosidade.
Expliquei-lhe quem escrevera o livro.
— Que homem! É maravilhoso, é magnífico! Que recompensa lhe deram?
— Hein?
— Pergunto se lhe deram alguma coisa por escrever isso.
— Não.
— Como não? Este livro é como um atestado de polícia. Lê-se e julga-se. Cissoiko e Pila parecem boas pessoas. Compadecemo-nos delas. São inocentes, cândidas... Que vida é então a sua?
— O quê?
Konovalov contemplou-me perturbado e disse -me timidamente:
— Devia prever-se isto, fazer-se uma lei. Também são homens e merecem que se cuide deles.
Replicando àquelas palavras pronunciei quase um discurso que — oh, deceção! — não produziu o efeito que eu desejava.
Konovalov deixou-se ficar pensativo e com a cabeça baixa. Reparando que não me atendia, calei-me por minha vez.
— E não lhe deram nada?
— A quem? — perguntei, sem me lembrar já do assunto.
— Ao inventor.
Impacientou-me aquela insistência. Não lhe respondi, compreendendo que mais me impacientaria contra o meu estranho auditório que não era capaz de interessar-se por assuntos universais e se entretinha a pensar unicamente na sorte de um só homem.
Konovalov, sem esperar que eu respondesse, tomou o livro, examinou-o com cuidado, abriu-o e, depois de o largar com indiferença, pôs-se a suspirar profundamente.
— Como isto é extraordinário, meu Deus! — disse ele a meia voz. — Um homem escreve um livro... e como se fosse papel com uns pontos em cima... Quem escreveu isto morreu já?
— Sim, morreu — repliquei com secura.
Naquela época aborrecia a filosofia e ainda mais a metafísica; Konovalov, porém, sem se importar com os meus gostos, prosseguiu:
— Morreu, mas o livro ficou. Um mundo de ideias destaca-se dele. Escutas e compreendes... Existiam no mundo Pila, Cissoiko, Aprouska... Compadeces-te destas personagens, e ainda que nunca as tenhas visto não deixam por isso de interessar-te menos. Na rua há muitas pessoas semelhantes, mas não as conheces; passam, nem te olham, nem te reparam... e contudo não existem as do livro... Todavia compadeces-te até sofrer com elas... Como se explica isto? Morreu o autor disto tudo, porque se não há de recompensá-lo?
Exasperavam-me aquelas perguntas a tal ponto que comecei a explicar-lhe desabridamente quais eram as recompensas dos autores.
Konovalov escutava-me, abrindo desmedidamente os olhos de pasmo, e com ares de quem recebe uma notícia dolorosa.
— Oh, que costumes esses! — murmurou ele, mordiscando a ponta do bigode e baixando a cabeça desoladamente.
Expliquei-lhe então a influência fatal que exercia o alcoolismo na vida do escritor russo, como os grandes talentos, claros e poderosos, se inutilizavam pelo vício irresistível.
— Também eles bebem?
Nos seus olhos dilatados havia uma expressão de desconfiança ouvindo as minhas palavras e ao mesmo tempo um sentimento de piedade na dolorosa evocação de tão grande decadência.
— Mas bebem depois de ter terminado o livro?
Àquela pergunta supérflua achei razoável nada responder.
— Sim, deve ser depois — concluiu Konovalov. — Enquanto estudam a vida aurem-lhe todo o seu amargor... Como deve ser extraordinária, de profundidade e de vidência, a sua contemplação das coisas; e que amargura para o seu coração esse perpassar de misérias e de profundas contrariedades morais... Tudo isso lhes trasborda do coração para os livros e longe de lhes causar alívio, desespera-os... Há um único recurso: o álcool... Não é como digo?
Agradando-lhe o meu assentimento, continuou o seu discurso sobre a psicologia dos escritores.
— Parece-me que as suas tentativas deviam ser estimuladas, não é assim? Compreendem as coisas diferentemente dos outros homens; as suas palavras têm o privilégio não só de apontar o erro, mas também de indicar a verdade. O que sou eu por exemplo? Um vagabundo... um miserável... um bêbado. A minha vida não tem justificação. Para que sirvo eu? Não tenho lar, não tenho sequer uma mulher, um filho... o que aliás não desejo. Vivo e aborreço-me. Porquê? Não sei. Como explicar tudo isto? Falta-me uma iniciativa, um estímulo, compreendes? Quero procurar e, não sei porquê, aborreço-me.
— Porque falas tu assim? — perguntei.
Com a cabeça apoiada numa das mãos, laborava intimamente na preocupação dolorosa de se exprimir.
— Perguntas-me porquê? Por causa da desordem da minha vida. Não saber do que se vive, que iniciativa tomar, qual a orientação a seguir... Não será isto um contínuo desequilíbrio?
Manifestei-lhe o meu modo de ver. O facto da sua desorientação era uma espécie de fatalidade baseada num passado longínquo. Como muitos outros, na maioria era uma vítima das circunstâncias ocasionais da existência, um ser, por natureza, igual a todos os demais, que por uma série de injustiças históricas falhava na verdadeira orientação da vida. Concluiu por dizer-lhe:
— Não tens que te acusar de nada. O mal é muito anterior, vem de muito longe já.
Konovalov permanecia silencioso sem deixar contudo de contemplar-me insistentemente. Nos seus olhos resplandecia um sorriso calmo de bondade, e com um movimento dócil aproximou-se de mim e pôs-me a mão no ombro.
— Como tu falas de tudo isto, irmão. Percebe-se que tens lido e meditado muito. As tuas palavras são inspiradas na verdade e na justiça. É a primeira vez que assim ouço falar. E, acredita-me, causa-me admiração. Em regra acusam-se uns aos outros, deitando as responsabilidades para fora. Tu, pelo contrário, não te eximes a essa responsabilidade, e lança-la para a sociedade, para os costumes, para a nossa maneira falsa de viver. Afirmar que o homem não é culpado do seu procedimento, e que está escrito que o homem será miserável, miserável será eternamente. Dos que incorrem em penas e roubo dizes que se roubam é porque não têm trabalho e que a fome a isso os obriga. Ah, como o teu coração é sensível!
— Mas escuta — disse eu — achas que tenho ou não tenho razão no que te digo?
— Tu deves sabê-lo melhor do que eu, visto que muito tens lido e meditado... Pelo que diz respeito aos outros terás muita razão; mas pelo que me toca...
— O quê?
— Sim, pelo que me toca é outro cantar... Quem tem culpa de eu me embebedar? Meu irmão Pavelka não bebe e governa-se bem com uma padaria que tem em Perm. E posto que eu trabalhe tão bem como ele, sou um vagabundo, um bêbado, sem eira nem beira. E todavia nascemos ambos do mesmo ventre. Ele é mais novo do que eu. Porque existe esta desigualdade? Sem dúvida porque sofri um desvio qualquer. Tu mesmo dizes que os homens são iguais; nascem, vivem o que o destino lhes permite e morrem. Eu pelo contrário não sou só... pertenço a uma classe distinta... a uma casta maldita, talvez. Precisamos de lei especiais, leis muito severas que nos sirvam de regulamento e disciplina. O nosso único préstimo é estorvarmos os outros. Nós somos responsáveis pelos atos da nossa vida. Foram sem dúvida as nossas mães que nos conceberam numa má hora.
Fiquei surpreendido por esta refutação inesperada dos meus argumentos. Aquele homem formidável, de olhos claros, punha-se fora da lei com uma tão ingénua tristeza, que, francamente, fiquei sem saber o que replicar.
Ele próprio experimentava um certo prazer em flagelar-se. Um fulgor extraordinário chispava nos seus olhos quando me gritava com a sua voz forte de barítono:
— Cada qual é o senhor de si mesmo e ninguém é responsável dos maus atos da minha vida.
Surpreendiam-se estas palavras na boca de um vagabundo, de um desses seres metade homens metade brutos, esfomeados, quase nus e repelidos de todos.
— Como queres tu — repliquei — que um homem não se curve a tantas forças que o oprimem?
— Pois que resista!
— Como é possível isso?
— Que o tente!
— E porque não o tentaste tu?
— Eu próprio confesso que sou o culpado da minha desgraça... Não encontrei nunca um apoio... e debalde o tenho procurado!
Em vão procurávamos convencermo-nos um ao outro. Afinal, como tivéssemos de ir tratar da amassadura, pusemos ponto na questão e depois separamo-nos silenciosamente.
Konovalov estendeu-se no chão e pegou imediatamente no sono. Eu atirei-me para cima dos sacos e pus-me a contemplar aquele formidável corpo estendido na esteira como um bogatyr. Vinha amanhecendo. O ambiente estava impregnado do cheiro a pão quente, a massa azeda e a óxido de carbónio... Através dos vidros cobertos de pó de farinha coava-se o alvor ténue da madrugada. Pela calçada rodava estrepitosamente um carro; de longe vinham os sons ténues da flauta de um pastor chamando o rebanho.
Konovalov roncava. Via levantar-se em haustos longos o seu peito gigante e pensava nos meios que empregaria para o converter à minha fé. Por fim, adormeci também.
Pela manhã, já sol alto, preparámos a levedura e depois de nos lavarmos sentámo-nos para tomar o chá.
— Tens aí algum livro? — perguntou ele.
— Tenho sim.
— Pois então lê.
— Se tens prazer nisso...
— Sim, agrada-me muito. Sabes o que tenciono fazer? No fim do mês reparto metade do salário contigo.
— Para quê?
— Para comprares livros. Escolherás os que quiseres e depois comprarás alguns para mim. Compra de preferência os que falarem de camponeses... como o de Pila e Cissoiko... Desses que estiverem escritos de modo a interessarem e a comoverem a gente... Dos que servem unicamente para distrair, nada. Panfilka e Filatka, posto que tenha uma gravura na capa, não presta: os Pochekhontsi são pura fantasia e não me agradam. Não sabia que houvesse livros como os teus.
— Queres a história de Stenka Rasine?
— Stenka!... e é bonito isso?
— É sim.
— Bem, então lê.
Momentos depois, lia-lhe a monografia de Kostomarov: A rebelião de Stenka Rasine. A princípio aquela obra genial, espécie de poema épico, não agradou ao meu ouvinte.
— Porque é que não há aí senão conversas? — perguntou-me, olhando o livro.
Quando lhe expliquei, nem por isso ficou mais satisfeito. Todavia disse-me:
— Lê, lê... Não faças caso do que eu digo.
Admirava-me a sua delicadeza e rara intuição; fingi não compreender o que ele queria exprimir.
Porém, à medida que o escritor pintava com o seu papel de artista a personagem de Stenka, e que o príncipe do Volga surgia das páginas do livro, todo o ser de Konovalov parecia transformado. Aborrecido e indiferente a princípio, com os olhos velados e sonolentos, foi-se pouco a pouco revelando sob um aspeto inesperado.
Sentado na grande arca defronte, abraçado aos joelhos e descansando o queixo sobre eles, de modo que a barba lhe caía sobre as pernas, olhava-me avidamente, com um fulgor estranho incendiando-lhe o olhar. Havia desaparecido toda a sua candidez infantil; tudo o que tinha de fraco, de feminino e de carinhoso, tudo o que harmonizava com os seus olhos azuis de uma doçura inexprimível, se eclipsara instantaneamente. Havia qualquer coisa de leonino e de fogoso no feixe de músculos do seu corpo. Ansioso, deteve-me, dizendo-me com a voz perturbada:
— Lê.
— O que tens tu? — perguntei.
— Lê! — replicou ele suave, mas autoritariamente.
Continuei, lançando-lhe de quando em quando um olhar rápido. Percebi que se exaltava cada vez mais. Emanava dele um entusiasmo estranho que se me comunicava, embriagando-me também.
Tomado de uma excitação nervosa, cheio de pressentimentos extraordinários, cheguei à captura de Stenka.
— Apanharam-no? — gritou Konovalov.
A dor, a indignação, a cólera e o desejo de libertar Stenka vibravam no seu clamor poderoso.
Tinha o rosto banhado de suor e os olhos dilatados e fulgurantes. Pusera-se de pé, enorme e soberbo.
Rapidamente disse com voz grave e séria:
— Espera. Não leias. Diz-me: o que é que vai suceder agora? Não, não digas nada! Matam-no? Lê, lê depressa, Máximo!
Crer-se-ia que Konovalov era o próprio irmão de Stenka. Parecia que os laços de sangue, indissolúveis e cálidos ainda, apesar de três séculos decorridos, ligavam aquele vagabundo a Stenka, como se tivesse sentido, com toda a energia do seu corpo vivo e forte, com toda a paixão da sua alma triste e sem apoio, a dor e a cólera do orgulhoso falcão aprisionado trezentos anos antes.
— Lê, em nome de Cristo!
Continuava a ler, perturbado e comovido, sentindo palpitar o meu coração em uníssono com o de Konovalov, dorido como ele na desesperação de Stenka.
Chegámos à cena da tortura.
Konovalov rangia os dentes e os seus olhos azuis como que faiscavam. Inclinava-se sobre o meu ombro, devorando o livro com os olhos ardentes. O seu hálito levantava-me os cabelos, atirando-mos para os olhos. Sacudi a cabeça para deitá-los para trás. Konovalov; notando-o apoiou a mão pesada na minha fronte.
— E então Stenka rangeu os dentes a tal ponto que lhe caíram no chão numa golfada de sangue...
— Basta... Vai para o diabo! — rugiu Konovalov e, arrancando-me o livro, atirou-o desesperadamente. Chorava e, envergonhado das suas lágrimas, rugia para não soluçar.
Ocultava a cabeça entre os joelhos e chorava copiosamente.
Eu estava sentado diante dele, não sabendo o que lhe dizer para o consolar.
— Máximo — dizia Konovalov — isto é horrível! Pila, Cissoiko e agora Stenka... Que desventura! Chegar a cuspir os dentes...
Estremecia dos pés à cabeça.
Aquele pormenor dos dentes cuspidos por Stenka tinha-o impressionado horripilantemente.
Estávamos ambos comovidíssimos por aquele quadro de tortura.
— hás de tornar-me a ler isto — disse Konovalov, apanhando o livro e entregando-mo. Depois de um momento de silêncio, acrescentou: — Diz-me onde está isso dos dentes.
Apontei-lhe o lugar da página. Konovalov ficou a olhar para as letras.
— Diz isto: e cuspiu os seus dentes? Mas as letras são aqui iguais às outras. Ah, senhor, quanto ele sofreria! E o que se segue depois? Matam-no, não é verdade?
Exprimiu aquela alegria da morte com tal ardor, os seus olhos brilhavam com tão intenso alívio, que não pude deixar de estremecer diante daquela compaixão, daquele desejo da morte para o torturado.
O dia correu todo assim de um modo extraordinário. Falávamos de Stenka, das canções que inspiraram a sua morte e o seu tormento. Por uma ou duas vezes Konovalov começou a elevar a sua voz de barítono. Mas um pressentimento constante obrigava-o a interromper o canto.
Desde aquele dia a nossa amizade começou a estreitar-se cada vez mais.
***
Voltei muitas vezes a ler-lhe «A Rebelião de Stenka Rasine», «Tarass Bulba», de Gogol, e as «Recordações da Casa dos Mortos», de Dostoiévski. «Tarass» agradou muito ao meu acamarada, mas não lhe desfez a impressão do livro de Kostomarov. Quanto às «Recordações da Casa dos Mortos» pareceu-lhe ridículo o estilo das cartas.
— Não leias isso, Máximo... é um farrapo indigesto... Ele escreve, ele contesta... parece-me trabalho perdido... Que vão para o diabo! Não é triste nem gracioso. Porque é que escreverão assim?
Recordei-lhe os Podlipovtsi, mas não foi do meu parecer.
— É muito diferente o caso de Pila e Cissoiko. São pessoas vivas. Vivem e lutam... Estes, porém, o que fazem? Escrevem cartas... É maçador... Não são pessoas; são sombras. Se se juntassem Tarass e Stenka, então sim, que fariam ambos grandes coisas. Pila e Cissoiko não sofreriam o que sofreram.
Compreendia mal a diferença das épocas; todos os heróis favoritos viviam ao mesmo tempo na sua cabeça, com a diferença de habitarem em sítios diversos. Expliquei-lhe que nem Pila teria falado a Stenka nem este a Tarass se porventura se chegassem a encontrar.
Isto desconsolou Konovalov.
Nos dias de festa abalávamos para o campo. Levávamos pão, aguardente, um livro, e logo de madrugada partíamos para o «ar livre», como dizia Konovalov.
Encantava-nos a fábrica de vidro, que era um edifício não muito longe da cidade, com os soalhos cheios durante todo o verão de um lodo líquido e pastoso.
Quando o rio trasbordava, o que todos os anos sucedia, a base do edifício mergulhava na água e as paredes cobriam-se de limos verdes. Como os charcos e os pântanos a protegiam contra as frequentes visitas da polícia, albergava, mesmo destelhado e em ruínas, muitos miseráveis sem domicílio.
Tinha sempre hóspedes. Mendigos esfarrapados com medo da luz do dia viviam naquele antro como corujas. Nós éramos muito bem recebidos, porque trazíamos pão mole, aguardente e carne com abundância. Com dois ou três rublos organizávamos uma boa petisqueira para «a gente da fábrica» como lhe costumávamos chamar.
Pagavam-nos em narrativas, misturadas da mais ingénua verdade com a mais cândida mentira. Estimavam-nos muito e escutavam-nos com atenção. Uma vez li-lhes: «Porque se vive na Rússia?» e por entre gargalhadas homéricas ouvia também observações muito judiciosas.
Todos os homens que lutam pela vida e estão sujeitos às suas contingências são mais filósofos do que Schopenhauer porque jamais uma ideia abstrata tomará uma forma tão precisa como a que a dor arranca de um cérebro. Surpreendia-me a conceção que tinham da vida aqueles homens vencidos por ela. Konovalov escutava com intenção evidente de contradizer o narrador.
Posto que não revelasse dúvidas, quase nunca acreditava nas pataratas que lhe contavam.
— Não acreditas em mim? — perguntava com tristeza o vagabundo.
— Sim, acredito. Porque não havia de acreditar? É interessante até procurar adivinhar os motivos porque se mentiu. Às vezes a mentira explica melhor o estado de alma do que a própria verdade... E que verdades podemos nós dizer? Mentir é de alguma sorte viver uma certa realidade criada pela fantasia. Não é isto certo?
— É certo, sim; mas porque me falas desse modo?
— Porquê? Porque raciocinas mal. Falas da tua vida como se não tivesses forças para a subjugar. Quem é que o há de fazer? Costumamos sempre queixar-nos dos outros homens, o que dá lugar a que eles, por sua vez, se queixem de nós. Se nos impedem de viver, isso significa que impedimos a vida de alguém. Não é isto?
E Konovalov acrescentou sentenciosamente:
— É preciso regularmos a nossa existência de modo que se não prejudique ninguém. Porque o não havemos de fazer? E quem, senão nós próprios, poderá realizar isto?
Como se receasse objeções, afirmava com insistência:
— Nós, nós próprios, mais ninguém. Se o não fazemos a culpa é nossa, unicamente nossa, entendes?
Para ele, todos éramos culpados.
Ninguém tentasse despersuadi-lo da sua ideia. Tinha uma maneira especial de encarar a existência. Muitas vezes parecia querer exigir deveres dos homens; outras vezes considerava-os fracos, cobardes, incapazes de se modificarem.
Como sempre as discussões duravam desde o meio-dia até à meia-noite, e voltávamos da «fábrica» com a água até aos joelhos.
Uma vez por pouco não nos afogámos num pântano. Noutra ocasião fomos uns vinte presos por suspeitos.
Sucedia, às vezes, não termos vontade de filosofar, e marchávamos para o campo, seguindo sempre a margem do rio. Acendíamos uma fogueira e falávamos acerca da vida ou líamos em voz alta.
Konovalov tinha destes repentes enternecidos:
— Máximo, contemplemos o céu.
Estendíamo-nos de costas e púnhamo-nos a contemplar o fundo infinito do céu. A princípio escutávamos o rumor das folhas e o ruído da água correndo. Depois, pouco a pouco, o azul imaculado atraía-nos; perdíamos a noção da existência, arrancados da terra, como se vogássemos num oceano calmo de doçuras, fascinados por esse embevecimento que desperta a contemplação do céu.
Permanecíamos assim muitas horas até que voltávamos ao trabalho, reconfortados pelo espetáculo da natureza.
Konovalov amava-a com um amor profundo e silencioso manifestado apenas na expressão satisfeita do olhar.
Às vezes dizia, suspirando:
— Ah, como isto é belo!
Havia naquela exclamação mais enternecimento do que na retórica balofa de muitos poetas. Estes extasiam-se para sustentar a sua reputação de homens que compreendem a beleza, posto que muitas vezes não alcancem o verdadeiro sentido dessa beleza.
***
Passaram assim três meses durante os quais falamos e lemos muito. «A Rebelião de Stenka» fora lida tantas vezes que Konovalov chegava a recitar páginas inteiras.
Aquele livro era para ele o que um conto de fadas é para uma criança. Chamava as coisas pelo nome dos seus heróis e um dia, quebrando uma peça de louça, exclamou, cheio de cólera e de pesar:
— Pobre guerreiro velho.
Aos pães mal cozidos chamava «Frolka» e à levedura os «pensamentos de Stenka». Esta palavra era sinónimo de tudo o que fosse grande e desgraçado.
Nunca mais tornáramos a falar de Capitolina.
Sabia que lhe enviara dinheiro por intermédio de um tal Filipe, mas nem este nem a moça tinham respondido.
Uma noite, quando estávamos a deitar o pão no forno, abriu-se a porta e uma voz de mulher tímida e ousada ao mesmo tempo, disse:
— Dão licença?
— O que deseja a senhora? — perguntei.
— É aqui que mora o padeiro Konovalov?
A luz da lâmpada caía sobre a sua cabeça com um lenço branco. Por debaixo do lenço destacava-se um rosto oval e lindo, com o nariz um pouco arrebitado, as faces nutridas e os lábios grossos e vermelhos.
— Sim, é aqui — respondi.
— É aqui, é aqui — exclamou Konovalov arrebatadamente e atirando-se para a porta.
— Meu querido Sacha! — suspirou ela.
Abraçaram-se amorosamente para o que Konovalov teve que curvar-se muito.
— Então, que fazes? Estás aqui há muito tempo? Estás já livre? Bem to dizia... Segue agora pelo bom caminho.
Konovalov não deixava de abraçar a moça e mostrava desejos de ver-se a sós com ela.
— Máximo! Arranja-te hoje como puderes, que tenho de tratar da senhora!
— Onde te alojaste, Capa?
— Vim diretamente aqui.
— Aqui não, é impossível... Aqui coze-se pão. O nosso amo é demasiadamente severo. Teremos que ir passar a noite para outra parte. Procura uma casa...
Subiram.
Julgava já não ver Konovalov senão no outro dia quando ao cabo de três horas ei-lo que reaparece. O meu assombro aumentou ao ver o seu rosto fatigado e triste, em vez do aspeto radiante que eu esperava.
— O que tens? — perguntei-lhe.
— Nada — replicou ele desalentado e cuspindo com rancor.
— Todavia...
— Que te importa? Deixa-me.
Estendeu-se a todo o comprimento sobre a arca e acrescentou:
— É mulher e pronto, está dito tudo.
Depois de o atentar muito, consegui arrancar dele alguma coisa:
— Digo-te que é mulher e basta. Se não fosse imbecil não me teria ocorrido isto. Tu dizes: «Uma mulher é um ser humano». Certamente que não caminha com quatro pés, que não se alimenta de erva, que fala e ri, o que nenhum outro animal faz. Todavia nem por isso vale mais. Imagina o que Capitolina me disse: «Quero viver contigo; serei a tua mulher, o teu cão fiel». Que estupidez! «Mas pequena», respondi eu, «isso é uma loucura. Tu não podes viver comigo; em primeiro lugar sou bêbado, em segundo lugar não tenho casa; em terceiro lugar sou vagabundo, etc., e muitas coisas mais». Ela replicou: «Pouco me importa que sejas bêbado; todos os operários o são, e apesar disso casam-se». Por minha parte disse: «Capa, não posso fazer o que me pedes, porque eu nunca poderia levar uma vida ordenada». «Pois deito-me ao rio!», replicou ela. Comecei a chamar-lhe estúpida. Raivosa, injuriou-me; lavada em lágrimas, lamentava-se que eu a arrancasse do lupanar. O que queres tu, Máximo que eu faça agora?
— Verdadeiramente não sei que ideia foi essa de a resgatares.
— Imbecil! Tirei-a porque tinha dó dela; qualquer pessoa faria o mesmo. Mas casar, isso é que nunca! Que esplêndido marido que eu dava! Se me sentisse com forças para tal há muito que o teria feito. Teria mesmo alcançado um dote e uma boa casa... Farte-se ela de chorar. O que disse, disse.
Falava com a íntima convicção de quem não está muito resolvido a mudar de ideia.
— Máximo — disse-me ele, perturbado — e se tu fosses vê-la... Se lhe dissesses porque chora assim! Talvez que tu a dissuadisses! Vai, anda, Máximo! Vai...
— E o que queres que lhe diga?
— Diz-lhe a verdade. Conta-lhe tudo. Diz-lhe por exemplo, que sofro de uma enfermidade incurável... É uma excelente ideia!
— E chamas a isso verdade inteira? — exclamei eu, rindo.
— Sim, tens razão... Mas é uma boa ideia. Os diabos a levem! Casar-me, eu? Maldito seja se algum dia me vier esta tentação.
Apesar do cómico da situação, preocupou-me bastante o lado dramático desta aventura.
Konovalov passeava muito agitado e falando entre dentes:
— Não imaginas o nojo que este facto me causou. Ela atrai-me e absorve-me como um pântano. E há de encontrar quem a queira! Não é muito inteligente, porém não lhe falta astúcia.
Começava a imperar nele o instinto nómada, o seu eterno desejo de liberdade que aquela mulher parecia querer-lhe coartar.
— Não, não engulo facilmente o anzol! Eu sou um peixe muito grande para cair na rede!
De vez em quando parava no meio da casa e sorria seguindo o fio dos seus pensamentos. Eu procurava adivinhar-lhe a sua resolução estudando-lhe o jogo fisionómico.
— Máximo! Vamos a Kubagne!
Amaldiçoado seja se esperava isto. Tinha sobre ele os meus projetos pedagógicos e literários; alimentava a secreta esperança de ensiná-lo a ler e de comunicar-lhe tudo quanto naquela época sabia. Seria interessante ver o que sairia dali. Prometera-me passar todo o verão na padaria; aquela súbita resolução transtornou-me os planos.
— Que diabo dizes tu? — perguntei eu com modos alvoroçados.
— Pois o que queres tu que eu faça?
Comecei por dizer-lhe que Capitolina não era mulher para se agarrar a ele eternamente. Aquilo passaria. Era melhor ficar a esperar pelo resultado.
Efetivamente assim sucedeu. Estavam sentados próximo do forno, de costas voltadas para as janelas. Era já meia-noite e haveria quase duas horas que Konovalov voltara. Subitamente, detrás de nós, estalou um ruído de vidros partidos, e uma pedra caiu estrepitosamente no meio da casa. Pusemo-nos em pé e corremos para a janela.
— Errei! — gritou com voz aguda. — Não aceitei a pontaria...
— Vamos embora — rugiu uma voz de baixo. — Eu o arranjarei depois...
Um riso histérico, que rasgava os nervos, penetrou pelo buraco que a pedra abrira nos vidros.
— É ela — disse Konovalov com enfado.
Só consegui ver duas pernas que intercetavam o passeio no espaço que havia diante das nossas janelas. Agitavam-se desordenadamente, batendo com furor na parede.
— Vamos — dizia a voz de baixo.
— Deixa-me, não me agarres! Deixa-me dizer-lhe tudo o que sinto! Sacha! Adeus!
Seguiu-se uma aluvião de injúrias e de pragas.
Aproximando-me da janela pude ver Capitolina.
De bruços sobre o passeio, procurava ver o interior da casa; o cabelo desgrenhado cobria-lhe os ombros e o peito. Levava o lenço caído para as costas e o vestido todo desarranjado. Espantosamente bêbada, falava sem tom nem som, jurava, lançava gritos selvagens; tinha o rosto muito vermelho e molhado de pranto.
Inclinava-se sobre ela uma alta figura de homem. Apoiava-lhe uma mão no ombro e clamava incessantemente:
— Anda, vamos embora.
— Sacha! Perdeste-me, acredita! Maldito sejas tu! Deus te recuse a salvação! Atraiçoaste-me, bandido, e zombaste de mim. Ah, escondes-te? Envergonhas-te? Ah, maldito... Sacha! Querido Sacha?
— Não me escondo — disse Konovalov com voz surda, aproximando-se da janela e subindo à arca. — Não me escondo. Tu é que és a culpada. Julgava que isto seria melhor para ti... Pedes-me coisas completamente impossíveis.
— Sacha, queres matar-me?
— Para que te embebedaste? Sabias porventura a resolução definitiva que eu tomaria?
— Sacha, Sacha, atira-me ao rio!
— Anda, vamos — dizia o outro.
— Sacha! Para que te fingiste bom?
— Que barulho é este? — exclamou de repente uma voz elevando-se acima de todas as outras.
Era o guarda noturno.
Os vultos afastaram-se com um ruído surdo de altercação, desaparecendo rapidamente na escuridão.
— Não quero que me prendam, Sacha! — exclamou a voz da moça.
Tornou a ouvir-se barulho de passos agitados, depois toques de apito, soluços e gritos.
— Sacha! Querido Sacha!
Parecia que martirizavam alguém. Depois, pouco a pouco, o ruído cessou e a rua ficou de novo deserta.
Aniquilados por aquela cena tão rápida, Konovalov e eu olhávamos silenciosamente a rua, parecendo ressoar-nos ainda aos ouvidos aquelas injúrias, aqueles gritos e soluços.
— Acabou-se — disse Konovalov com voz grave, impregnando-se no alto silêncio da noite. — O que ela me disse! — exclamou depois de alguns momentos. — Prenderam-na... bêbeda... com esse papalvo.
Depois, atirando-se para cima dos sacos e apertando desesperadamente a cabeça, perguntou-me:
— Escuta, Máximo! Que culpa tive eu disto?
Respondi-lhe que o único culpado era ele. Devia calcular o resultado da aventura em que se metera. Estava irritado contra ele; e os gemidos de Capitolina e os «vamos» do companheiro bêbado ressoavam ainda aos meus ouvidos indispondo-me antes para o desprezo do que para a compaixão. Konovalov escutava-me de cabeça baixa; depois de me ouvir, replicou:
— Então? O que podemos nós fazer por ela?
Era tão ingénua a expressão da sua voz, inspirava tanta compaixão a sua simplicidade que me arrependi da maneira áspera como o tratara.
— Porque a não deixaria eu onde ela estava? Deus meu! O que ela me disse! Vou à esquadra e aí intercederei por ela e veremos em que para tudo isto. O que te parece?
Fiz-lhe observar que não resultaria nada de bom daquela entrevista pela simples razão de que Capitolina estava bêbeda e provavelmente adormecida.
Ele, porém, obstinava-se na sua ideia.
— Sempre vou. Espera. Seja como for, amo-a. Fica aqui que eu volto já.
Pôs o gorro, calçou as botas altas de que tanto gostava e saiu rapidamente da padaria.
Deitei-me depois de terminado o trabalho. Quando pela manhã olhei para o lugar de Konovalov não o vi lá.
Apareceu à noite, sombrio e desgrenhado, de aspeto carrancudo e olhos sonolentos. Sem me olhar, dirigiu-se para as arcas, observou o trabalho feito e estendeu-se silenciosamente no solo.
— Então viste-a?
— Foi para isso que saí.
— E depois?
— Nada.
Era evidente que Konovalov não queria falar. Não o importunei mais, pensando que não conseguiria nada do seu mau humor.
Permaneceu em silêncio todo aquele dia, dizendo-me unicamente algumas frases referentes ao trabalho. Parecia que alguma coisa se extinguira nele. Trabalhava lentamente e sem vontade, como que entorpecido pelos seus pensamentos. Pela noite adiante disse-me:
— Lê-me alguma coisa de Stenka.
Escolhi o capítulo da descrição do tormento, que era de todo o livro o que o interessava mais.
Ia-me ouvindo ler, estendido de barriga para o ar, olhando a abóbada do teto sem pestanejar.
— Stenka morreu. Acabaram com esse homem — disse lentamente Konovalov. — E todavia naquele tempo podia-se viver. Ao menos era-se livre e havia espaço para expandir a alma. Agora só há tranquilidade e submissão. Pensando bem, a vida está maravilhosamente organizada. Livros! Escolas! Apesar de tudo, o homem vive sem proteção e ninguém se preocupa com a sua sorte. Não se deve fazer mal a ninguém; mas como isto está, é impossível de o deixar de fazer. As ruas da cidade estão limpas, mas a alma das pessoas está emporcalhada. Não se compreende isto!
— Sacha! O que resolves tu de Capitolina? — perguntei-lhe de surpresa.
— O quê? Capa? Já acabei com tudo! — fez ele num gesto de desprendimento.
— Foste tu que resolveste isto?
— Não! Foi ela que assim o desejou.
— Como?
— Muito simplesmente voltou ao seu antigo modo de vida. Está como estava, com diferença de que agora ainda por cima se embriaga... Tira os pães e vamos dormir.
Calámo-nos. A lâmpada fumegava e a côdea do pão começava a aloirar-se dentro do forno. Na rua, defronte da janela, conversavam os guardas-noturnos. Ouvia-se um ruído estranho: era como o chiar de uma tranca ou o gemido de uma pessoa.
Tirei os pães e deitei-me; como não pudesse dormir, fiquei de olhos semicerrados escutando os rumores da noite. De repente vi que Konovalov se levantava. Agarrou no livro de Konovalov e aproximou-o dos olhos. Via claramente o seu rosto preocupado, via o seu dedo passar por sobre as linhas, volvendo as páginas e agitando a cabeça. Alguma coisa de insólito emanava dos seus modos preocupados.
Não pude conter-me e perguntei-lhe o que estava a fazer.
— Pensei que estivesses a dormir — respondeu ele, perturbado.
Sentando-se a meu lado perguntou-me em voz branda:
— Queria perguntar-te se há algum livro que nos dê orientação segura sobre a maneira de proceder na vida. Queria que me explicasses quais são as boas ações e quais são as más... Olha, preocupa-me bastante a conduta do homem... As ações que pratico e que tenho como boas, não sei porquê, são as que dão sempre pior resultado. Olha o que tem sucedido com Capa.
Depois de suspirar profundamente, continuou o seu interrogatório:
— Diz-me se é possível encontrar um livro como há pouco te disse. Se descobrires quero que mo leias.
Reinou um curto silêncio.
— Máximo!
— O que é?
— Como Capitolina me tratou mal!
— Não penses mais nela.
— Certamente... Mas, enfim; estava ela no direito de fazer aquilo?
O problema era espinhoso. Depois de refletir, repliquei afirmativamente.
— É o mesmo que eu penso — disse Konovalov — tinha razão, sim.
Levantou-se da esteira, acendeu um cigarro e, depois de dar algumas voltas, tornou a deitar-se novamente.
Deixei-me dormir. Quando despertei já o não vi.
Quando voltou à noite, vinha coberto de um pó esquisito e no seu olhar imutável brilhava um fulgor desconhecido.
— Onde estiveste? — perguntei.
— Fui ver Capa.
— E então?
— Acabamos tudo, irmão, já ontem te tinha dito. Nada se pode fazer com mulheres daquela casta.
Tratei de distraí-lo, falando-lhe da força do destino e de outras coisas banais. Konovalov calava-se com obstinação olhando fixamente o solo.
— Não, não se trata disso. Sou simplesmente um homem contagioso. Não deveria viver. Quando me aproximo de alguém é certo pegar-lhe logo o mal. O meu destino é produzir desgraças... Dei já porventura prazer a alguém neste mundo? E todavia tenho tratado com muita gente. Sou uma ruína viva.
— Que loucuras!
— É isso mesmo! — disse, com um movimento que demonstrava profunda convicção.
Em vão tratei de dissuadi-lo daquelas ideias. Era um homem que não sabia adaptar-se às exigências sociais. O rosto estava macerado e os olhos tinham perdido o seu brilho natural.
— O que tens tu, Sacha? — perguntei-lhe.
— É a crise que começa. Dentro em pouco começarei a beber aguardente. Sinto arder-me tudo cá por dentro. Se não me tivesse metido nesta aventura talvez me pudesse conter. Agora... queria realizar uma boa ação... e de repente... Tenho para mim que as pessoas inteligentes deviam explicar aos outros as ações necessárias para que não se perturbe a ordem social, porque sem ordem é impossível a sociedade. Não é isto?
Absorto naquele pensamento da ordem necessária à vida, não fazia caso dos meus ensinamentos. Um dia quase que se irritou, quando pela centésima vez lhe falei no meu projeto de organização social.
— Sim, sim. Já sei a tua história. Não é da vida que se trata, é do homem. O essencial é o homem, compreendes? Segundo o teu parecer, enquanto tudo se transforma, deve um homem ficar imutável. Não é nada disso. É preciso primeiro transformá-lo, ensinar-lhe o caminho, dar-lhe luz e espaço, apontar-lhe o caminho a seguir. Tudo o mais é uma coisa secundária.
Protestei. Ele exaltava-se, punha-se sombrio e exclamava de mau humor:
— Deixa-me.
Uma tarde desapareceu e não voltou nessa noite, nem no dia seguinte. O patrão apareceu com muito maus modos e disse-me:
— Sacha diverte-se. Está na Parede. Tenho que procurar outro amassador.
— Espere que ele volte.
— Isso sim! Conheço-o demasiadamente.
Fui à Parede, tabernória engenhosamente encostada a uma parede de pedras enormes que lhe dava o nome. Não havia janelas e a luz entrava por uma abertura do teto. Era um buraco aberto no solo e coberto de madeira. Estava impregnada de cheiro a terra, de tabaco e de aguardente que fazia entontecer quem lá penetrava. Os concorrentes, porém, indivíduos sombrios sem ocupação determinada, estavam acostumados àquele fétido e permaneciam ali todo o dia à espera de algum operário bêbado para o depenarem.
Konovalov tinha-se sentado a uma grande mesa redonda, no centro da taberna, rodeado de seis personagens de ares respeitáveis e traiçoeiramente aduladores, com caras de bandidos de Hofmann.
Bebiam cerveja e aguardente acompanhadas de pequenos biscoitos secos.
— Bebam, amigos, quanto puderem. Tenho dinheiro e roupas, suficiente para três dias. Havemos de bebê-lo todo! Acabou-se! Não quero trabalhar mais e vou-me embora daqui.
— A cidade é detestável! — disse um indivíduo que parecia John Falstaff.
— Trabalhas? — disse outro que parecia interrogar o teto, e acrescentou: — Viemos por ventura ao mundo para trabalhar?
Todos gritaram a um tempo para provar a Konovalov que tinha direito a beber quanto quisesse, elevando este direito ao dever de compartilhar com eles.
— Olha, o Máximo! — exclamou Konovalov assim que me viu. — Toma, escriba e fariseu, bebe! Descarrilei completamente, irmão. Acabou-se! Quero beber tudo quanto tenho até ficar só com a pele em cima dos ossos. Anda, bebe também!
Não estava ainda completamente bêbado, mas os seus olhos azuis brilhavam com um fulgor de aborrecimento desesperado. A barba admirável que lhe cobria o peito como um leque de seda, agitava-se no tremor nervoso que o convulsionava. Tinha a camisa desabotoada e na sua fronte branca camarinhavam pequeninas gotas de suor. A mão tremia-lhe agarrada à caneca da cerveja.
— Deixa isto, Sacha! Vamo-nos daqui! — disse eu pondo-lhe uma das mãos no ombro.
— Deixar isto? — respondeu ele a rir. — Se me tivesses dito isso aqui há dez anos talvez conseguisses fazer-me mudar de ideia. Agora é impossível. Não conseguiu atinar com o caminho da vida, por mais esforços que fizesse para o procurar. Sinto e bebo porque nada de melhor posso fazer... Bebe também!
Os seus companheiros examinavam-me com grande descontentamento e os seis pares de olhos fitaram-se com uma intenção nada pacífica. Desgraçados! Temiam que Konovalov me seguisse, pondo termo àquele festim que eles esperavam que durasse oito dias talvez.
— Irmãos! É meu camarada! Um sábio levado da breca! Queres ler alguma coisa de Stenka? Ah, amigos, que belos livros há por esse mundo. E o que me dizem de Pila? Este, irmãos, não é um livro, é um complexo de sangue e de lágrimas. Ah, Pila sou eu, Máximo! E sou também Cissoiko, juro-te. Eis tudo explicado.
Com os olhos desmedidamente abertos, contemplava-me com espanto, e o lábio superior tremia de um modo raro. Contra minha vontade fizeram-me sentar junto de Konovalov, que emborcava um copo de cerveja com aguardente.
Sem dúvida, a sua vontade era aturdir-se o mais depressa possível.
Depois de beber agarrou numa daquelas fatias de carne de boi que parecem argila cozida e atirou-a por cima do ombro contra a parede.
Os companheiros grunhiam como as feras esfomeadas que veem um osso.
— Sou homem ao mar! Para que me deitaria minha mãe ao mundo? Quem é que sabe isto? Adeus, Máximo, já não queres beber comigo. Não voltarei à padaria. O patrão deve-me dinheiro. Pede-o e traz-mo para beber. Não, guarda-o antes para livros. Queres? És um parvo, vai-te, vai-te!
À medida que se embriagava, os seus olhares tornavam-se cada vez mais ferozes.
Os outros comensais estavam dispostos a correr-me a pontapés. Para evitá-lo fui-me embora. Três horas depois estava de novo na Parede. O grupo de Konovalov tinha aumentado. Todos eles estavam bêbados: porém Konovalov não tanto como os outros. Cantava com os cotovelos apoiados na mesa e olhava o céu pela abertura do teto.
Os bêbados escutavam-no postos em diferentes atitudes. Alguns deles arrotavam bestialmente. Konovalov cantava com voz de barítono, que nas notas altas degenerava em falsete como sucede a todos os operários. Fixavam-no oito fisionomias estúpidas e avermelhadas, e de quando em quando ouviam-se grunhidos e roncos.
A voz de Konovalov chorava e gemia, produzindo uma indizível tristeza ouvir aquele homem cantando as desgraças da sua vida.
O mau cheiro, os rostos congestionados e cobertos de suor, as duas lâmpadas de petróleo, as paredes negras de barro e do fumo da taberna, o solo de terra e a sombra que reinava naquele buraco, tudo era fantasticamente horrível.
Parecia que todos aqueles homens estavam enterrados vivos e que um deles cantava pela última vez, o seu adeus à luz e ao céu. Uma tranquila desesperação e um tédio sem limites vibravam no canto do meu companheiro.
— Está aqui, Máximo? Queres ser meu essaul? Vem amigo — disse-me, estendendo a mão e interrompendo a alegria. — Estou bem disposto, irmão... Façamos uma horda, encontraremos gente que baste. Isto não é nada! Chamaremos Pila e Cossoiko e dar-lhe-emos de comer. Parece-te isto bom? Consentes? Tu trazes os livros e ler-nos-ás Stenka e todos os outros. Ah, como eu fico triste!
Dando uma forte punhada na mesa, fez saltar os copos, as garrafas e os bêbados, que encheram a taberna de ruído infernal.
— Bebam, camaradas — gritou Konovalov — bebam quanto tiverem na vontade.
Fugi. À porta detive-me para ouvir Konovalov que discursava numa língua estropiada. Quando se pôs novamente a cantar, tomei o caminho da padaria.
Dois dias depois, Konovalov desaparecia da cidade, tornando, porém, a vê-lo passado pouco tempo.
***
É necessário ter-se nascido numa sociedade civilizada para se ter a resignação de viver nela toda a vida sem nunca sentir o desejo de libertar-se dessa esfera de convenções fátuas, de venenosas mentiras consagradas pelo uso de ambições mesquinhas e partidarismos acanhados, de diversas formas de falta de sinceridade, em uma palavra, de toda a loucura das vaidades que gela o coração, corrompe a inteligência e tão insensatamente se chama vida civilizada.
Nascido e criado fora desta sociedade, impossível se me torna aceitar essa cultura a doses fortes sem experimentar logo a necessidade imediata de fugir para muito longe das suas complicações exigentes e absurdas.
A permanência no campo aborrece tanto como nos meios civilizados. O melhor é ainda internarmo-nos nas baiucas miseráveis das cidades onde, se falta a higiene, abunda ao menos a simplicidade e a sinceridade; ou então percorrermos transviadamente as intermináveis estradas, as extensões longínquas, oxigenando-nos física e moralmente, sem a necessidade de outros meios de transporte que umas boas pernas sólidas.
Empreendi há cinco anos uma jornada neste género. Sem ter previamente marcado itinerário fui ter a Teodósia, onde, segundo me tinham dito, encontraria trabalho num dique em construção.
Para abranger as obras de um só olhar subi a uma montanha próxima, onde me sentei, confrontando a grandeza imponente do mar ilimitado com aqueles pequeninos seres que formigavam lá em baixo preocupados em cercá-lo de diques.
Desenvolvera-se diante de mim o amplo quadro do trabalho humano: a margem penhascosa da baía tinha já sido removida, e por toda a parte se viam buracas, montes de pedra e de madeira, carroças, picaretas, barras de ferro, máquinas complicadas, tudo salpicado de pequeninos vultos buliçosos.
Eram esses homens que, depois de haverem estilhaçado a montanha a dinamite, e desterroavam com as picaretas preparando o leito, onde assentaria a via férrea; eram eles que argamassavam em caixas enormes o cimento e a pedra, submergindo-os depois nas águas turvas do mar em blocos formidáveis que resistissem aos embates violentos das correntes.
Pareciam larvas vistas sobre o fundo obscuro da montanha mutilada, agitando-se, infatigáveis como gusanos, entre os montões de pedra, de madeira e de escombros, à luz ardente do sol do meio-dia... Dir-se-ia quererem ocultar-se da luz sumindo-se no seio da montanha escalavrada.
Flutuava no ar um murmúrio dolente e poderoso.
As picaretas feriam lume, chiavam as rodas, o pilão de ferro caía pesadamente sobre a madeira do dique, a Dubinuchka, chorava, ressoavam as ferramentas e os homens pequeninos elevavam os seus gritos para o alto.
Num ponto encarniçava-se um grupo de operários à roda de um penhasco, fazendo esforços desesperados para o moverem. Mais além outro grupo levantava uma viga enorme, balanceando os esforços com o estribilho pronunciado: «Iça!» que ia ecoar nas profundas cavernas da montanha esburacada.
Próximo de uma gruta, aglomeravam-se uns tantos em massa compacta, ouvindo alguém que cantava com voz langorosa e trémula:
Irmãos meus, faz calor
Todos nos olham sem compaixão.
Ai, Dubinuchka
Ah! Ah!
A multidão resfolegava puxando os cabos enquanto a massa de ferro do pilão se elevava e abatia com fragor.
Em todos os pontos, entre o mar e o rio, agitavam-se homenzitos sujos, enchendo o ar com a gritaria insana, cobertos de pó e de suor. Entre eles passavam os capatazes vestidos de branco, com botões de metal que brilhavam ao sol lembrando olhos ferozes.
No céu sem nuvens, ardentíssimo, a poeira e as ondas sonoras formavam a sinfonia do trabalho — a única música que não agrada.
O mar estendia até aos confins do horizonte enevoado o marulho alto das suas ondas e parecia sorrir bondosamente como um Guliver cônscio de que um, só um dos seus movimentos, destruiria todo aquele trabalho de liliputianos.
O seu dorso tinha maleabilidades fluídas de aço espelhento na agitação calma das águas. Bonacheirão e forte, eram ainda de um gigante os seus haustos lentos e espacejados cuja frescura ia deliciar aqueles que se empenhavam em recusar a liberdade dessas ondas que vinham, com tanta carícia e suavidade, estender na praia a sua espuma branca como um cisne indolente que se espreguiça.
O mar parecia compadecer-se das canseiras de toda aquela gente; séculos de existência ter-lhe-iam feito compreender que os maus, os criminosos e os bandidos não eram aqueles que lidavam nas fadigas a amontoar matérias sobre matérias, pobres escravos a quem impõem aquelas formidáveis lutas corpo a corpo com os elementos, cuja vingança tão pronta e terrivelmente se faz sentir.
Se os párias, os miseráveis e os réprobos que constroem e sofrem as consequências das suas lides penosas, o seu sangue e o seu suor cimentam tudo quanto se eleva à superfície da terra. E nada os compensa desse sacrifício de porem as suas forças ao serviço do eterno desejo de construir, desejo que não lhes faculta abrigo e mal lhes proporciona o pão de cada dia.
Também eles constituem um elemento e por isso o mar não se revolta contra os seus flagícios, olhando de contrário com toda a indulgência o insano trabalho que em nada lhes é útil.
Ele parece conhecer de há muito os escravos, forças submissas nas mãos dos que tudo dominam, e vê decerto nos Miseráveis de hoje os descendentes daqueles que em outros tempos edificaram as pirâmides no deserto e dos que inconscientemente o tinham açoitado a mandado daquele demente Xerxes, que se julgava vingar das violências com que o mar destruíra as suas pontes mandando-lhe aplicar trezentas vergastadas.
Os escravos foram sempre idênticos, dóceis e submissos a tudo o que os senhores lhes ordenavam, ora divinizando os seus verdugos, ora maldizendo-os e revoltando-se contra a sua tirania, o que infelizmente tão poucas vezes acontece.
Sorrindo como um titã que conhece o alcance do seu poder, o mar refrescava com o seu hálito aqueles miseráveis agrilhoados nas algemas da escravidão que escavavam humilhantes a terra em vez de lançarem altivamente as suas vistas para o céu.
E a onda, espreguiçando a sua indolência na areia da praia, parece narrar nas suas canções sonoras as coisas estranhas que viu nos países longínquos.
Entre os operários viam-se tipos singulares, figuras exóticas, vestidos com jaqueta azul, calças justas e uma espécie de gorro encarnado na cabeça.
Soube mais tarde que eram turcos da Anatólia.
As suas vozes guturais confundiam-se com a fala lenta e cadenciosa dos viatichi e com a linguagem áspera e sacudida dos volguianos, entre os quais se ouvia, contrastando, o acento branco e melodioso dos naturais da Pequena Rússia.
A fome reinava na Rússia e os operários andavam em bandos procurando trabalho.
Havia ali gente de todas as comarcas, representantes de todos os países castigados pelo açoite.
Aglomeravam-se em pequenos grupos, por afinidades de raça, e só os vagabundos se distinguiam pelo ar altivo de independência, pelos seus trajes e linguagem dos camponeses, escravos da terra que guardam a lembrança do solo natal.
Em todos os grupos figuravam vagabundos, tanto entre os viatichi, como entre os da Pequena Rússia, mas a maior parte deles estava junto do martelo pilão, onde o trabalho era menos penoso.
Quando me aproximei deles, tinham as mãos na corda, à espera que o inspetor arranjasse a poleia, que, sem dúvida, desgastava a corda.
Do alto do madeiramento gritava:
— Puxem!
Puxaram debilmente.
— Parem! Puxem... Parem. Puxem!
O principal cantor, um mocetão que fazia lembrar um soldado, ergueu os ombros, sorriu e cantou:
O pilão afunde a estaca!
— Eh — gritava de cima o inspetor — acabe lá o da música!
— Cuidado, Mitrich! Vais fazer explosão!
Conhecia perfeitamente aquela voz e jurara ter visto já aquele corpo gigantesco de ombros largos e rosto oval, iluminado por dois olhos infantilmente azuis e ingénuos.
Era Konovalov?
Mas Konovalov não tinha um lanho que vinha desde o ouvido até ao começo do nariz, como o que cortava a fronte daquele homem. Os cabelos de Konovalov eram mais claros e tinham uma longa barba que lhe cobria o peito, enquanto o indivíduo que eu observava usava, como os habitantes da Pequena Rússia, bigodes compridos e ondulados.
Apesar destas dissemelhanças havia naquele homem alguma coisa que me era familiar.
Decidi dirigir-me a ele e, por seu intermédio, experimentar se obteria trabalho nas obras.
Esperei a ocasião em que tivessem acabado de afundar a estaca.
— Oh! Oooh! — gritou afanosamente a multidão, puxando a corda com todas as forças.
O martelo-pilão rangia e estremecia; por cima das cabeças levantaram-se braços nus com os músculos rígidos e tensos. Mas o bloco de ferro levantava-se cada vez menos e caía desajeitadamente sobre a madeira.
Observando aquele trabalho julgar-se-ia que era uma multidão idólatra, exaltada e desesperada, que levantava os braços para um deus mudo e indiferente, prostrando-se e humilhando-se na ânsia de algum milagre.
— Basta! — gritou alguém.
Os braços dos operários largaram as cordas. Os homens caíam ofegantes no chão, limpando o suor, apalpando os ombros e emitindo um murmúrio semelhante ao rugido de um grande animal encolerizado.
— Amigo! — disse eu, dirigindo-me ao homem que me prendera a atenção.
O interpelado voltou-se preguiçosamente. Os seus olhos fixaram-me com curiosidade, com interesse mesmo.
— Konovalov! — exclamei eu.
— Espera! Quem diabo és tu?
E deitando-me a cabeça para trás com um empurrão forte, vi iluminar-se-lhe o rosto com um daqueles sorrisos bondosos que eu tanto lhe conhecia.
— Máximo! Tu? Maldição! Então descarrilaste também? Juntaste-te aos vagabundos? Folgo muito, amigo. Há quanto tempo? Mas de onde vens tu? Vamos agora girar ambos por esse mundo fora, não é verdade? Aquilo não era vida digna de um homem. Estagnava-se, apodrecia-se. Pois eu, irmão, tenho corrido o mundo inteiro. Onde diabo não estive eu? Ao menos respira-se! Mas que vejo? Que trajo é esse? Pareces um soldado com cara de estudante. Ora diz lá, com franqueza, se não é uma vida agradável de levar-se, esta de errarmos à aventura permanecendo hoje aqui, amanhã acolá, sem destino fixo? Ah, Máximo! Recordo-me de tudo... de Stenka, de Tarass e de Pila...
Dava-me punhadas nos ombros e apertava-me violentamente como se quisesse converter-me num beefsteak.
Como me não era lícito replicar às suas perguntas atabalhoadas, feitas de ressaltos de memórias e evocações bruscas do passado, limitava-me a sorrir e a contemplar o seu rosto radiante de alegria.
Eu tinha também muita satisfação em vê-lo. O encontro com ele recordava-me o princípio da minha vida que no ponto em que ficara tinha mais valor do que a sua continuação.
Afinal consegui perguntar-lhe o motivo daquela cicatriz e o que fizera ao cabelo para o ter assim eriçado.
— Isso é uma história muito comprida... Um dia, com dois camaradas, quis atravessar a fronteira para visitar a România. Saímos de Kagula que é um povoado da Bessarábia muito próximo da fronteira. Era já de noite e íamos avançando cautelosamente para não sermos pressentidos. De repente: «Alto!» Eram os guardas. Que fazer? Fugir. Foi então que um soldado me riscou. Não me apanhou lá muito bem, mas ainda assim estive um mês no hospital. O mais interessante é que o soldado era patrício meu, de Mouron! Coitado, teve que ir também passar uma temporada ao hospital com o ventre aberto pela navalha de um contrabandista. Quando entrámos em convalescença o soldado disse-me: «Fui eu que te feri?» «Parece-me que sim», respondi. «É verdade, fui eu; mas não me queiras mal; é o serviço que assim o exige. Julgávamos que eram contrabandistas. Olha, a mim também me puseram em bom estado: rasgaram-me a barriga. Que queres? A vida é toda de compensações...» Tornámo-nos amigos; era um bom soldado esse Iachke Masine... E o cabelo eriçado? É uma consequência do tifo. Meteram-me na prisão de Kichinev por ter passado a fronteira sem licença... Foi ali que apanhei a febre. Salvou-me o cuidado que teve comigo uma enfermeira. Dizia-lhe: «Maria Petrovna, não te preocupes tanto comigo, deixa correr isto; estragas-me com tantos mimos...» Ela sorria. Às vezes lia-me livros piedosos. «Não tens livros de outra índole?», perguntei-lhe. Um dia trouxe-me um que havia esquecido não sei a quem. Falava de um marinheiro inglês que em consequência de um naufrágio fora arrojado a uma ilha deserta. É muito interessante a tal história. Não calculas quanto me agradou; de boa vontade desejaria ser eu protagonista do caso. Deve ser uma existência deliciosa, compreendes? Viver só... Uma ilha, o mar e o céu... Viver livre, ter tudo quanto se necessita, completamente divorciado de tudo... Havia também lá um selvagem. No meu caso tinha-o afogado. Para que diabo me serviria o selvagem? E tu, aborreces-te quando vives só?
— Mas espera... como saíste da prisão?
— Puseram-me em liberdade. Depois de ser julgado, soltaram-me, a coisa não teve importância nenhuma. Bom! Hoje não pego mais no trabalho, trago os braços desengonçados. Basta! Tenho quase três rublos e pelo meio-dia de hoje dar-me-ão quarenta kopeks. Um capital, imagina! Vem a minha casa. Não estamos na pousada; vivemos a dois passos na montanha. Há lá um buraco que dá uma habitação magnífica! vai ver... Somos dois os inquilinos... mas o meu companheiro, coitado, está doente. Tem uma febre devoradora. Senta-te aqui e espera um pouco: vou a casa do capataz e não me demoro nada.
***
Levantou-se rapidamente na ocasião em que os operários voltavam a pegar nas cordas para a sua árdua tarefa.
Deixei-me ficar sentado numa pedra contemplando a labuta daqueles homens e o mar tranquilo impregnado nos longes do azul fino do céu.
A alta figura de Konovalov desaparecia pouco a pouco.
Levava vestida uma blusa de percal azul, demasiadamente curta e apertada, calças de tela e botas altas grosseiras.
De vez em quando voltava-se e fazia-me sinais erguendo os braços.
No meio do ruído formidável, a figura de Konovalov, que se afastava lentamente com passos firmes, sobressaía vigorosa e imponente.
Duas horas depois do encontro estávamos ambos estendidos no buraco, «muito cómodo para habitação». Efetivamente não deixava de ser cómodo. A escavação feita para arrancar a pedra deixara um espaço vazio onde caberiam quando muito quatro homens. O pior era um pedregulho enorme que estava mesmo por cima da entrada, e que ameaçava emparedar-nos se porventura se lembrasse de cair, o que não nos agradaria muito. Para o evitar fazíamos o seguinte: metíamos as pernas e o corpo no buraco, ficando com a cabeça de fora, de maneira que se o penhasco desandasse, ficaríamos, quando muito, com o crânio esmigalhado.
O vagabundo doente estendeu-se ao sol, a dois passos de distância. Ouvimo-lo bater os dentes nos paroxismos delirantes da febre. Era da Pequena Rússia, alto e seco, «de Poltava ou talvez de Kiev», como ele me disse com expressão sonhadora.
— Vive-se tão pouco tempo que pouco importa saber o lugar onde se nasceu. Não é tudo a mesma coisa? Nascer, eis a grande desgraça. Que importa o lugar?
Revolvia-se no solo, fazendo esforços para se embrulhar todo num velho gabão cinzento cheio de buracos, e praguejava de um modo pitoresco vendo a inutilidade da sua tentativa.
Tinha uns olhitos negros, calmos e fixos como se estivesse sempre atento nalguma coisa.
Para nos livrarmos do sol que abrasava, Konovalov fez uma espécie de coberta, colocando o meu capote de soldado sobre duas estacas. De toda a maneira abafávamos.
Vinha de longe o rumor surdo do trabalho da baía, que do lugar onde nos achávamos não podia avistar-se.
À nossa direita, na margem, descortinavam-se as casas brancas da cidade; à esquerda e em frente prolongava-se a vastidão infinita do mar.
Konovalov, absorto e mudo, contemplava os longes sorrindo beatificamente.
Momentos depois disse-me:
— Em se pondo o sol, acendemos uma fogueira para fazer chá. Ali dentro há pão e carne. Queres, entretanto, uma talhada de melão?
Deu-me o melão e uma faca, acrescentando:
— Cada vez que contemplo o mar, pergunto a mim próprio, porque não vivemos todos nas suas margens. Seríamos melhores porque o mar é acariciador... e faz despertar pensamentos bons. Mas diz-me o que fizeste durante estes anos!
Contei-lhe em que passara esse tempo.
O enfermo permanecia insensível à torreira do sol, pouco preocupado com o que nós dizíamos.
Nos longes, o mar cobria-se de púrpura e oiro, ao mesmo tempo que do seu seio se elevavam nuvens cor de cinza franjada de rosas, encaminhando-se para os lados do poente.
Parecia que do fundo do mar surgiam montanhas de arredondados cimos cor de neve.
Chegavam da baía os melancólicos acordes da Dubinuchka e os estrondos da dinamite despedaçando a montanha.
As pedras e as saliências do terreno projetavam sombras que avançavam insensivelmente para nós.
— Desagrada-me que tenhas a mania das cidades, Máximo — disse Konovalov, depois de ouvir a minha odisseia. — O que te interessa nelas? Repara como a vida é infeta e miserável. Não há ar, nem espaço bastante para se viver. És instruído, sabes ler, que te importa os homens? O que esperas tu deles? Além disso em toda a parte há homens.
— Eh! — exclamou o enfermo que se estorcia como uma víbora. — Há-os até de mais. Não se pode andar sem pisarmos os pés do próximo. Nasce gente como cogumelos depois da chuva... e até estes os comem os ricos!
Cuspiu com ar desprezível e começou de novo a tremer, batendo os dentes com furor.
— Atende-me — disse Konovalov — deixa-te de cidades que só contêm podridões e vícios. Livros? Suponho que terás lido bastantes. Demais há também neles muitas tolices. Compra os que te agradarem, mete-os na mochila e marcha! Queres vir comigo até Sachkant e Samarcanda? Vamos ambos até ao Amur? Por minha parte estou decidido a percorrer o mundo em todas as direções; é o melhor que temos a fazer. Caminhas, vês coisas novas e não tens preocupações. Parece que o vento quando sopra varre toda a poeira da lama. És livre e ligeiro... Nada te estorva. Se tens fome, paras e trabalhas por cinco kopeks; se não há trabalho, mendigas. Ninguém te recusará um bocado de pão. Deste modo verás e aprenderás muito. Vamos?
***
Tinha-se posto o sol. Nuvens densas tinham ofuscado o brilho do poente, enegrecendo a superfície do mar.
Cessara o rumor do trabalho.
Aqui e ali começavam as estrelas a despontar.
Ao cimo da montanha mal chegavam as vozes dos homens, humildes e abafados como suspiros.
O vento, um pouco forte, trazia até nós o eterno murmúrio das ondas agitadas. A obscuridade aumentava. O doente deitado a poucos passos parecia uma massa negra e informe.
— Era conveniente fazer-se lume.
— Pois sim.
Konovalov tirou aparas não sei de onde, amontoou lenha e dali a instantes, por entre o fumo ténue e azulado, surgiam faúlhas crepitantes que pouco a pouco incendiaram a lenha num grande fogueira, cuja chama lembrava uma grande flor de um roxo amarelado...
Konovalov pôs uma cafeteira ao lume e pôs-se a contemplar as chamas com expressão sonhadora.
— Os homens fizeram cidades, edificaram casas onde se amontoam, fustigam a terra, afogam-se e inutilizam-se mutuamente... Será isto viver? Não, a verdadeira vida é a nossa...
— Oh! — disse o de Poltava abanando a cabeça. — Se nós tivéssemos uma casa confortável e um bom abrigo de peles no inverno, então é que seria uma verdadeira vida de senhores.
Piscando um olho, sorriu e olhou para Konovalov.
— Sim — repliquei eu perturbado — o inverno é um tempo maldito. No inverno é preciso acolher-se a gente às cidades. Em todo o caso é ridículo aglomerar-se tanta gente, porquanto bastam três homens reunidos para haver disputa... Pensando bem, o homem não tem lugar em parte alguma, nem nas cidades nem nas estepes. O melhor é não pensar nestas coisas; discuti-las nenhum proveito nos dá...
***
Pelo que Konovalov me dissera e supondo que o tédio e a tristeza se tivessem dissipado nele, fui forçado a admitir que era outro o motivo que o impulsionava para a vida errante. Mas pelo tom em que ele pronunciara estas últimas palavras compreendi que as ideias do meu amigo se não tinham modificado desde que o conhecera.
O terror da dúvida e os venenos dos sonhos predicavam, até o anularem, aquele homem poderoso que por sua desgraça viera ao mundo com um coração tão sensível e vibrante.
Essas «pessoas sonhadoras» são numerosas na Rússia, e a sua infelicidade é inconsolável porque a força dos seus pensamentos aumenta com a cegueira do seu espírito.
Contemplei com desolação o meu amigo, e ele, para confirmar as minhas suposições, exclamou com tristeza:
— Recordo-me, Máximo, da nossa vida e de tudo... o que fui. Quantas coisas não vi desde então? Não encontrei no mundo nada que me satisfizesse. Não encontrei o meu lugar na vida.
— E porque nasceste com um colo que não pode suportar nenhum colar? — perguntou o doente com indiferença, tirando a cafeteira do lume.
— Que sei eu? Diz-me tu porque não posso viver em paz? Porque é que todos os outros homens vivem, tratam dos seus negócios, têm mulheres e filhos... e de tudo? Queixam-se da vida, é certo, mas toleram-na e vivem numa tranquilidade relativa que eu estou muito longe de gozar. Obram indiferentemente num sentido ou noutro, conforme mais lhe apetece. Porque não posso eu fazer o mesmo? Sim, porque é que tudo me aborrece e me fatiga?
— Que ideia essa de fazeres má cara a tudo? — disse o doente. — Imaginas que te curas desse modo?
— Bem sei que me não curo! — replicou Konovalov com tristeza.
— Eu falo pouco, mas sei sempre o que digo! — pronunciou o estoico com dignidade, sem se importar com a febre que o queimava.
— Bem, deixemos isto — disso Konovalov com modo brusco. — Já que vieste ao mundo vive e não raciocines.
O estoico julgou oportuno acrescentar:
— E com coisa nenhuma te preocupes. O tempo virá sem que tu possas impedi-lo de marchar ao teu encontro. Serás arrastado fatalmente para o nada e o teu corpo convertido em pó. Não te mexas, cala-te... Nem a língua nem os braços nos servem para coisa alguma.
Depois de falar assim, tossiu, agitou-se e pôs-se a cuspir raivosamente no lume.
Em torno, fazia um silêncio alto impregnado de tristeza e de desolação. Não rompera ainda a lua. Uma cortina espessa envolvia a noite, com cintilações trémulas de astros e murmúrios longínquos, muito ténues, subindo do mar.
A fogueira apagava-se lentamente.
— Vamos dormir — propôs o de Poltava.
Arrastámo-nos até ao buraco e deitámo-nos com a cabeça de fora. Fez-se o silêncio entre nós.
Konovalov permanecia estendido, imóvel e firme, como se estivesse petrificado. O doente agitava-se continuamente batendo os dentes.
Reparei como o lume se ia extinguindo; ardente e grande a princípio, o montão de faúlhas diminuía, cobria-se de cinza, ocultando-se debaixo desta e reduzindo-se pouco a pouco a uma pequenina joia fulgurante.
Dali a pouco restava da fogueira unicamente um bafo morno prestes a extinguir-se também.
Absorto, não sei bem em quê, disse para comigo: «Assim sucede connosco! Se ao menos no vigor da vida soubéssemos arder com violência...»
Três dias depois despedia-me de Konovalov.
Dirigia-me para Kubagne, para onde ele me não quis acompanhar.
Separámo-nos, todavia, com a esperança de nos encontrarmos ainda sobre a terra.
Não o quis, porém, o destino.
Máximo Gorki
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















