LAVOURA DE CORPOS / Patricia Cornwell
LAVOURA DE CORPOS / Patricia Cornwell
#
#
#
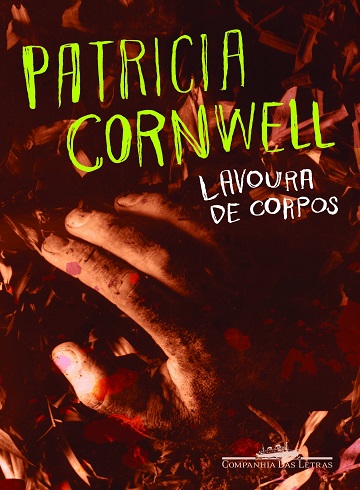
#
#
#
No dia 16 de outubro, quando o sol surgia tímido sob o manto da noite, avistei pela janela a sombra de um cervo arrastando-se na orla da mata escura. O encanamento roncava nos pisos superiores e inferiores, e os quartos se iluminavam um a um, como nítidas tatuagens, enquanto o matraquear das armas nas cabines de tiro, que eu não conseguia ver, varava a madrugada.
3
O tenente Hershel Mote mal podia controlar a histeria de sua voz, quando Wesley retornou seu telefonema, às seis e vinte e nove da tarde.
5
Descemos ao porão de Max Ferguson pelos degraus de concreto, nos fundos da casa, e pude observar, pelas folhas secas sobre eles, que ninguém estivera ali recentemente.
7
O Dr. Jenrette foi muito gentil, permitindo que eu usasse sua sala, e desapareceu no laboratório do hospital. Passei as horas seguintes ao telefone.
9
O Dr. Jenrette estava preenchendo formulários no necrotério, quando cheguei, pouco antes das dez. O carro fúnebre já passara por ali. Ele sorriu para mim, nervoso, enquanto eu tirava o casaco e vestia um avental plástico por cima da roupa.
10
Na manhã seguinte acordei em meio à névoa e nem conseguia avistar as montanhas. A volta para o Norte foi adiada para a parte da tarde, e saí para correr, sentir o ar úmido e frio.
12
Wesley e eu fomos para o Red Sage às quatro e meia, cedo demais para beber. Mas nenhum dos dois se sentia muito bem.
14
Lucy não estava em quarto particular e passei direto por ela, pois não se parecia com ninguém que eu conhecesse. O cabelo, duro de sangue, estava escuro e eriçado; os olhos, pretos e azuis. Recostada na cama, num torpor de anestésicos, não estava presente nem ausente. Aproximei-me e segurei sua mão.
16
Retornei a Richmond, sem sentir o espectro maligno de Gault a me assombrar. Teria outras prioridades e demônios a enfrentar, e não escolhera me caçar, acreditava. Mesmo assim, tão logo entrei em casa liguei o alarme. Não ia a lugar algum, nem ao banheiro, sem levar a arma.
18
O Setor de Pesquisa em Deterioração da Universidade do Tennessee era conhecido simplesmente como Lavoura de Corpos, desde que eu me conhecia por gente. Pessoas como eu não pretendiam ser irreverentes ao usar o apelido, pois ninguém mais do que nós respeita mais os mortos, pois trabalhamos com eles e aprendemos a ouvir suas histórias silenciosas. Nosso objetivo é ajudar os vivos.
19
Não segui o conselho de Wesley: voltei ao mesmo quarto no Hyatt. Não queria passar o resto do dia mudando para outro hotel, tendo tantos telefonemas a dar, antes de pegar o avião.




Biblio VT




A violência chega à pacata Black Mountain. Nessa cidadezinha da Carolina do Norte, a casa da distinta família Steiner é invadida, e a pequena Emily, raptada. O sequestro choca a comunidade local, que entra em pânico quando, dias depois, é encontrado o corpo mutilado da frágil menina de onze anos. Mais uma atrocidade do serial killer Temple Gault? É o que pensam os habitantes de Black Mountain e também o FBI, que está à caça do monstro assassino de crianças. A médica legista Kay Scarpetta integra a equipe que investiga o caso Steiner. Ela conhece o estilo de Gault. Conhece tão bem que chega a questionar sua autoria nesse crime hediondo, cujas investigações são permeadas de outras mortes, atentados e fatos muito misteriosos.
Num mundo privilegiadamente masculino como o dos romances policiais é bem mais fácil encontrar loiras fatais do que mulheres detetives. Nesse mundo, Kay Scarpetta não é apenas uma raridade, é uma personagem única: loira, mas fatal só para os que matam. A serviço do FBI, essa dublê de legista e advogada tem como ideal fazer justiça aos mortos. A Dra. Scarpetta é implacável, à maneira dos detetives mais tradicionais: alia a frieza da análise científica ao refinamento da psicologia mais sutil.
Em Lavoura de corpos, a Dra. Kay Scarpetta investe todas as energias na captura do monstruoso Temple Gault, suspeito do brutal assassinato da menina Emily Steiner. Acompanhada pelo agente Benton Wesley e pelo policial Pete Marino, vai à pequena cidade de Black Mountain investigar os detalhes desse crime executado segundo requintados padrões de tortura e crueldade, característicos do serial killer. Porém, em meio ao alvoroço dos habitantes de Black Mountain, fatos inexplicáveis vão complicando as investigações.
Teria sido acidental o suicídio do agente Max Ferguson? Por que o zelador da escola primária desapareceu? Que motivos levariam o assassino a prender a vítima com uma estranha fita adesiva alaranjada? Essas e outras perguntas se colocam enquanto Kay Scarpetta tenta resolver uma crise familiar. Sua adorada sobrinha Lucy está em maus lençóis: estagiando no departamento de engenharia do FBI, é acusada de roubar informações confidenciais sobre CAIN, um programa de identificação e busca de assassinos.
Num mundo privilegiadamente masculino como o dos romances policiais é bem mais fácil encontrar loiras fatais do que mulheres detetives. Nesse mundo, Kay Scarpetta não é apenas uma raridade, é uma personagem única: loira, mas fatal só para os que matam. A serviço do FBI, essa dublê de legista e advogada tem como ideal fazer justiça aos mortos. A Dra. Scarpetta é implacável, à maneira dos detetives mais tradicionais: alia a frieza da análise científica ao refinamento da psicologia mais sutil.
Em Lavoura de corpos, a Dra. Kay Scarpetta investe todas as energias na captura do monstruoso Temple Gault, suspeito do brutal assassinato da menina Emily Steiner. Acompanhada pelo agente Benton Wesley e pelo policial Pete Marino, vai à pequena cidade de Black Mountain investigar os detalhes desse crime executado segundo requintados padrões de tortura e crueldade, característicos do serial killer. Porém, em meio ao alvoroço dos habitantes de Black Mountain, fatos inexplicáveis vão complicando as investigações.
Teria sido acidental o suicídio do agente Max Ferguson? Por que o zelador da escola primária desapareceu? Que motivos levariam o assassino a prender a vítima com uma estranha fita adesiva alaranjada? Essas e outras perguntas se colocam enquanto Kay Scarpetta tenta resolver uma crise familiar. Sua adorada sobrinha Lucy está em maus lençóis: estagiando no departamento de engenharia do FBI, é acusada de roubar informações confidenciais sobre CAIN, um programa de identificação e busca de assassinos.
#
#
#
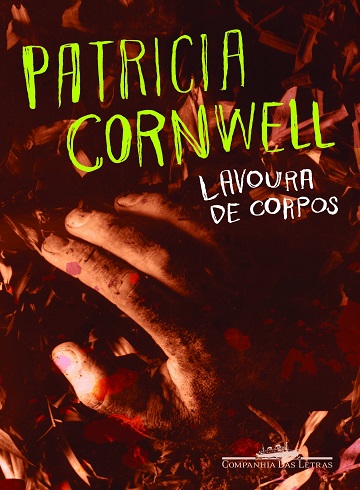
#
#
#
No dia 16 de outubro, quando o sol surgia tímido sob o manto da noite, avistei pela janela a sombra de um cervo arrastando-se na orla da mata escura. O encanamento roncava nos pisos superiores e inferiores, e os quartos se iluminavam um a um, como nítidas tatuagens, enquanto o matraquear das armas nas cabines de tiro, que eu não conseguia ver, varava a madrugada.
Esse barulho nunca para em Quantico, na Virgínia, onde a academia do FBI é uma ilha rodeada por fuzileiros navais. Eu passava vários dias por mês no setor de segurança máxima da academia, onde ninguém podia me visitar sem minha permissão, nem me seguir, caso tomasse algumas cervejas a mais no centro de convivência.
Em contraste com os dormitórios espartanos ocupados pelos novos agentes e policiais visitantes, minha suíte tinha televisão, cozinha, telefone e banheiro privativo.
Cigarros e bebidas alcoólicas eram proibidos, mas suspeito que espiões e testemunhas sob proteção que costumavam se alojar ali obedeciam às regras tanto quanto eu.
Enquanto o café esquentava no microondas, abri a maleta para pegar o material que me aguardava desde a minha chegada, na noite anterior. Ainda não o relera, pois não conseguiria concentrar a mente numa coisa daquelas e menos ainda levá-la para a cama.
Desde a faculdade de medicina eu me acostumara à exposição aos traumas, a qualquer hora. Dava plantão noturno no pronto-socorro, realizava autópsias sozinha no necrotério, até raiar o dia. O sono nunca passara de um breve mergulho num local escuro e vazio, do qual pouco me lembrava depois. Gradualmente, com o passar dos anos, ocorreu uma transformação perniciosa. Comecei a temer trabalhar até altas horas e a ter pesadelos, nos quais terríveis imagens mentais brotavam das profundezas do inconsciente.
Emily Steiner mal completara onze anos. A sexualidade desabrochava em seu corpo esguio quando escreveu no diário, havia dois domingos, no dia 1º de outubro:
Ah, estou tão feliz! É quase uma da manhã e mamãe não sabe que estou escrevendo meu diário, pois me escondi debaixo das cobertas com uma lanterna. Fomos ajudar no jantar da igreja e Wren estava lá! Sei que ele notou a minha presença! E depois me deu uma biriba! Guardei-a na minha caixa de segredos. Temos encontro de jovens esta tarde; ele quer que eu o veja antes, sem dizer nada a ninguém!!!
Emily, às três e meia daquela tarde, saiu de sua casa em Black Mountain, a leste de Asheville, e iniciou a caminhada de três quilômetros até a igreja. Depois do encontro, às seis horas, outras crianças se recordam de tê-la visto sair sozinha, quando o sol desaparecia atrás das montanhas. Ela deixou a via principal, levando na mão a caixa do violão, e pegou o atalho que contornava um laguinho. Os policiais encarregados da investigação acreditam que tenha encontrado nesse momento o homem que tiraria sua vida, duas horas mais tarde. Talvez tenha parado para conversar com ele. Talvez nem tenha percebido sua presença entre as sombras, no caminho de casa.
Em Black Mountain, cidadezinha da Carolina do Norte habitada por alguns milhares de pessoas, a polícia registrara poucos homicídios e ataques sexuais a crianças.
Desconheciam qualquer caso que combinasse os dois crimes. Jamais haviam pensado em Temple Brooks Gault, de Albany na Geórgia, embora o rosto do assassino estivesse risonho nos cartazes dos dez mais procurados, espalhados pelo país. Criminosos famosos e seus feitos nunca foram motivo de preocupação naquela parte pitoresca do mundo conhecida graças a Thomas Wolfe e Billy Graham.
Não compreendo o que pode ter atraído Gault para lá, nem para uma menina frágil chamada Emily, que sentia falta do pai e de um garoto chamado Wren. Mas quando Gault iniciara sua jornada assassina em Richmond, dois anos antes, suas escolhas também haviam sido aparentemente irracionais. A bem da verdade, não fazem sentido até agora.
Deixando a suíte, passei pelos corredores envidraçados e ensolarados pensando na carreira sanguinária de Gault em Richmond, capaz de escurecer uma manhã daquelas.
Certa vez eu o tive ao alcance da mão. Poderia têlo tocado literalmente, por um instante, antes que ele pulasse pela janela e desaparecesse. Não estava armada na ocasião; de qualquer modo, não cabia a mim sair por aí atirando nas pessoas. Mas não conseguia me livrar da dúvida arrepiante que me atormentava o espírito desde então. Não conseguia parar de pensar que poderia ter feito alguma coisa.
Um vinho de boa safra jamais passou pela academia; lamentei ter tomado vários copos na noite anterior, no centro de convivência. A corrida matinal pela rua J. Edgar Hoover foi pior que de costume. Meu Deus, pensei, acho que não vou conseguir chegar ao final.
Os fuzileiros navais montavam telescópios e cadeiras de lona camuflada na beira da pista, voltados para os alvos. Senti os olhares masculinos atrevidos, ao passar correndo, sabendo que o emblema dourado do Departamento de Justiça, aplicado à camiseta azul-escura, fora notado. Os soldados provavelmente calcularam que se tratava de uma policial ou agente feminina visitante; imaginar minha sobrinha correndo no mesmo local me incomodou. Teria preferido outro lugar para o treinamento de Lucy.
Eu havia influenciado sua vida, obviamente, e poucas coisas no mundo me assustavam tanto quanto isso. Criara o hábito de me preocupar com ela durante os treinamentos, enquanto padecia e sentia o peso da idade.
O HRT, Grupo de Resgate de Reféns, realizava manobras. As pás dos helicópteros agitavam o ar. Uma caminhonete lotada de escudos à prova de balas passou, seguida de outro grupo de soldados. Dei meia-volta e comecei a correr os três quilômetros de volta à academia, que poderia passar por um hotel moderno, de tijolo aparente, se não fosse pelo telhado cheio de antenas e a localização, no meio do mato, longe de tudo.
Quando finalmente cheguei à guarita, contornei as barreiras e ergui a mão, cumprimentando desanimada o oficial do outro lado do vidro. Sem fôlego, suada, pensava em fazer o restante do percurso caminhando, quando senti a presença de um carro atrás de mim, diminuindo a marcha.
“Está tentando cometer suicídio, por acaso?”, disse o capitão Pete Marino, ao volante do Crown Victoria dourado blindado. As antenas balançavam como varas de pescar e, apesar dos inúmeros sermões que ouvira de mim, ele não usava o cinto de segurança.
“Existem maneiras mais fáceis”, falei pela janela aberta, do lado do passageiro. “Andar sem o cinto de segurança, por exemplo.” “A gente nunca sabe quando vai precisar sair depressa do carro”, ele disse.
“Se bater o carro, vai sair bem depressa, sem dúvida”, falei. “Pelo para-brisa, provavelmente.”
Marino, um policial experiente da homicídios de Richmond, onde nós dois servíamos, fora promovido recentemente e lotado na Primeira Delegacia, no setor mais violento da cidade. Participava do VICAP, Programa de Captura de Criminosos Violentos do FBI, havia muitos anos.
Cinquentão, era uma vítima da natureza humana violenta, dieta ruim e bebida em doses generosas. O rosto mostrava as marcas da vida dura, emoldurado pelo cabelo grisalho e ralo. Marino estava gordo, fora de forma e tinha fama de mal-humorado. Sabia que viera para a reunião sobre Steiner, mas estranhei a bagagem no banco traseiro.
“Vai passar um tempo aqui?”, perguntei.
“Benton me inscreveu no programa de sobrevivência na rua.”
“Você e quem mais?”, perguntei, pois o objetivo do programa era treinar equipes, não indivíduos.
“Eu e a turma inteira da delegacia.”
“Não me diga que derrubar portas agora faz parte de suas atividades...”
“Uma das alegrias da promoção é vestir a farda e voltar para a rua. Caso não tenha notado, doutora, eles não usam mais revólveres do tipo Saturday Night Special.”
“Obrigada pela dica”, disse secamente. “Não se esqueça de usar roupas grossas.”
“Como é?” Os olhos, protegidos pelos óculos escuros, controlavam o espelho retrovisor, quando algum carro passava.
“Balas de tinta machucam.”
“Não pretendo deixar que me acertem.”
“Ninguém pretende.”
“Quando você chegou?”, ele perguntou.
“Ontem à noite.” Marino pegou o maço de cigarro. “Já sabe de alguma coisa?”
“Dei uma olhada no material. Pelo que sei, os policiais da Carolina do Norte chegarão esta manhã, trazendo os detalhes do caso.” “É Gault. Só pode ser.”
“Sem dúvida há semelhanças”, falei cautelosamente.
Enfiando um Marlboro na boca, ele disse: “Vou dar um jeito naquele filho da mãe, nem que tenha de ir até o inferno atrás dele”.
“Se descobrir que ele está no inferno, melhor deixálo por lá”, disse. “Tem compromisso para o almoço?”
“Aceito um convite, se você pagar.”
“Sempre pago”, disse, e era verdade.
“É o mínimo que pode fazer”, ele disse, estacionando o carro. “Afinal, é médica.”
Andei e corri até o campo, atravessei-o e entrei no ginásio pela porta dos fundos. No vestiário encontrei três moças atléticas, nuas ou seminuas, que me encararam quando entrei.
“Bom dia, dona”, disseram em uníssono, identificando-se instantaneamente. As agentes do DEA, Departamento de Narcóticos, eram famosas na academia pelos cumprimentos corteses e irritantes.
Constrangida, comecei a tirar a roupa ensopada de suor, pois jamais me acostumara com o estilo militar masculino do local. As mulheres costumavam conversar e exibir contusões, nuas em pêlo. Enrolada na toalha, corri para a ducha. Mal abrira a torneira quando um par de olhos verdes surgiu entre as dobras da cortina plástica, a me examinar. O sabonete escorregou da mão, deslizando pelo piso, parando perto dos tênis Nike enlameados de minha sobrinha.
“Lucy, não podemos conversar depois que eu sair do banho?”, perguntei, fechando a cortina.
“Puxa vida, Len quase me matou hoje de manhã”, ela disse rindo, ao chutar o sabonete de volta para o box. “Foi demais. Na próxima vez em que corrermos na rua Yellow Brick, vou perguntar se você pode ir conosco.” “Não, muito obrigada.” Passei xampu no cabelo. “Não gosto de romper ligamentos e fraturar ossos.” “Ora, você precisava ir conosco, pelo menos uma vez, tia Kay. É uma espécie de batismo de fogo, aqui.”
“Para mim não serve.” Lucy calou-se por um momento, e depois disse, insegura: “Preciso perguntar uma coisa a você”.
Enxaguei o cabelo e o afastei da frente dos olhos. Abri um pouco a cortina e olhei pelo vão. Minha sobrinha estava parada na frente do boxe, suada e suja da cabeça aos pés. O sangue manchava sua camiseta cinza do FBI. Aos vinte e um anos, quase terminando o curso na Universidade da Virgínia, UVA, tinha rosto lindo, inteligente.
O sol iluminava seu cabelo castanho. Recordei-me de quando o cabelo era comprido e ruivo, de quando usava tranças e era gorda.
“Querem que eu continue lá, depois de formada”, disse. “O senhor Wesley fez uma proposta e há uma boa chance de aprovação por parte dos federais.” “Qual é a pergunta?” A ambivalência bateu fundo, novamente.
“Só queria saber o que você acha disso.” “Sabe que as contratações estão suspensas.” Lucy olhou para mim, tentando descobrir coisas que eu não pretendia deixá-la saber.
“De qualquer modo, não posso me tornar agente assim que terminar a faculdade”, ela disse. “A questão é conseguir vaga no ERF agora, talvez até uma bolsa. O que eu farei depois”, ela deu de ombros, “descobrirei no momento oportuno.” ERF era o recém-fundado Departamento de Pesquisa de Engenharia, num prédio austero, no mesmo local da academia. Desenvolvia atividades secretas e eu me sentia um tanto incomodada por ser chefe do setor de medicina legal da Virgínia, consultora de patologia forense da unidade de apoio a investigações do FBI, e nunca ter recebido autorização para percorrer os corredores pelos quais minha sobrinha passava diariamente.
Lucy tirou os tênis e o short, depois a camiseta e o sutiã por cima da cabeça.
“Vamos continuar a conversa outra hora”, disse, saindo do chuveiro para que ela entrasse.
“Ai!”, reclamou, quando a água molhou suas feridas.
“Passe bastante água e sabão. O que fez na mão?” “Escorreguei quando descia um barranco e a corda me machucou.” “Acho melhor passar um pouco de álcool aí.” “Nem pensar.” “A que horas sai do ERF?” “Sei lá. Depende.” “Vejo você antes de voltar para Richmond”, prometi, ao retornar ao vestiário, secando o cabelo.
Transcorrido menos de um minuto, Lucy passou por mim, sem o menor pudor, usando apenas o relógio Breitling que eu lhe dera no aniversário.
“Merda!”, resmungou, enquanto se vestia. “Você não acredita na montanha de coisas que tenho para fazer hoje. Formatar o disco rígido, reorganizar os arquivos, pois o espaço está no fim, como sempre, abrir espaço, transferir arquivos. Espero que não haja mais nenhum problema com o equipamento.” Suas reclamações não eram convincentes.
Lucy adorava cada minuto de seu dia.
“Vi Marino quando estava correndo. Ele vai passar o fim de semana aqui”, falei.
“Pergunte a ele se topa dar uns tiros.” Ela jogou os tênis no armário e fechou a porta com força.
“Tenho a impressão de que ele não vai fazer outra coisa.” Minhas palavras a acompanharam, enquanto meia dúzia de agentes do DEA entravam, vestidas de preto.
“Bom dia, dona.” Os cordões estalaram no couro quando tiraram as botas.
Quando terminei de me vestir, e guardava a sacola com material esportivo no quarto, às nove e quinze, percebi que me atrasara.
Saí pelas portas duplas de segurança, desci correndo três lances de escadaria e cheguei ao térreo da academia, onde rotineiramente chafurdava na lama do inferno.
No salão de conferências, nove investigadores, especialistas em perfis psicológicos do FBI e um analista da VICAP ocupavam a longa mesa de reunião. Puxei uma cadeira, ao lado de Marino, enquanto os comentários enchiam a sala.
“O sujeito conhece tudo a respeito de pistas e seu recolhimento.”
“Como qualquer um que tenha sido condenado.”
“O mais importante é que ele se mostra inteiramente à vontade com este tipo de comportamento.”
“Por isso acredito que já tenha cumprido pena.” Acrescentei o meu material à pasta que circulava entre os presentes e sussurrei a um dos especialistas em psicologia que precisava de uma cópia do diário de Emily Steiner.
“Bem, na verdade eu discordo”, Marino disse. “O fato de alguém ter cumprido pena não significa que tenha medo de ir para a cadeia outra vez.”
“A maioria das pessoas tem medo disso, sim senhor. Sabe como é, a história do gato escaldado com medo de água fria.”
“Gault não é como a maioria das pessoas. Ele gosta de ser escaldado.” Recebi uma série de reproduções a laser da casa dos Steiner, em estilo country. Nos fundos, a janela do piso superior havia sido arrombada e por ela o atacante chegara a uma pequena lavanderia com piso de paviflex branco e parede empapelada de xadrez azul.
“Se levarmos em conta o bairro, a família e a própria vítima, veremos que Gault está ficando mais atrevido.”
Examinei as fotos do corredor carpetado, que levava ao dormitório principal, onde o papel de parede exibia estampas de pequenos buquês de violetas, em tom pastel, e balões soltos, a voar contra o fundo. Contei seis travesseiros na cama com dossel e outros tantos numa prateleira do armário.
“Estamos falando de um aumento sensível de vulnerabilidade, neste caso.” O quarto com decoração infantil pertencia à mãe de Emily, Denesa. Segundo seu depoimento à polícia, ela foi acordada por volta das duas da manhã, sob a mira de uma arma.
“Ele pode estar querendo nos provocar.”
“Não seria a primeira vez.”
A Sra. Steiner descreveu o assaltante: altura e constituição física medianas. Como usava máscara, luvas, calças compridas e casaco, não tinha certeza da raça. Ele a amarrou e amordaçou com uma fita adesiva alaranjada larga e a prendeu no closet. Depois avançou pelo corredor até o quarto de Emily, onde a tirou da cama. Em seguida desapareceu com a menina na madrugada escura.
“Acho melhor ir com cuidado, antes de atribuir o crime a este sujeito, Gault.”
“Boa ideia. Precisamos manter a mente aberta.”
Interrompi. “A cama da mãe estava arrumada?” As conversas paralelas cessaram.
Um investigador de meia-idade, de rosto rosado marcado e devasso, disse: “Afirmativo”, e seus olhos cinzentos se detiveram em meu cabelo louro-acinzentado, nos lábios e no lenço cinza que se projetava do decote da blusa listrada de cinza e branco. Continuou o exame, descendo até as mãos, detendo-se no anel de ouro Intaglio e no dedo sem aliança.
“Sou a doutora Scarpetta”, disse-lhe, fazendo questão de me apresentar com o máximo de frieza, enquanto o sujeito avaliava meus seios.
“Max Ferguson, do SBI, Departamento Estadual de Investigações, comarca de Asheville.”
“Sou o tenente Hershel Mote, da polícia de Black Mountain.” Um sujeito de roupa caqui amarrotada, com idade suficiente para se aposentar, debruçou-se sobre a mesa, estendendo a mão calejada. “Muito prazer, doutora. Ouvi falar muito a seu respeito.” “Aparentemente”, Ferguson dirigiu-se ao grupo, “a Sra. Steiner fez a cama antes da chegada da polícia.”
“Por quê?”, indaguei.
“Vergonha, talvez”, sugeriu Liz Myre, a única mulher especializada em perfis psicológicos de nosso grupo. “Já recebera um estranho em seu quarto, e logo seria a vez de um policial entrar.”
“Como se vestia, quando a polícia chegou?”, perguntei.
Ferguson consultou o relatório. “Robe rosado com zíper, e meias.”
“Era isso que estava usando quando foi para a cama?”, ecoou atrás de mim uma voz familiar.
O chefe da unidade, Benton Wesley, fechou a porta da sala de reuniões, trocando um olhar rápido comigo. Alto e esguio, com traços finos e cabelo prateado, ele usava um terno clássico escuro. Carregava uma pilha de papéis e um carrossel de slides. Ninguém disse nada, enquanto ele se acomodava rapidamente em sua poltrona, na cabeceira da mesa. Fez algumas anotações com sua caneta Mont Blanc.
Wesley repetiu, sem erguer a vista: “Sabemos se ela estava vestida daquela maneira, quando o assaltante a atacou? Ou ela vestiu o robe depois do ocorrido?”.
“Eu diria que era uma camisola, não exatamente um robe”, Mote se manifestou. “Tecido aflanelado, mangas compridas. Ia até o tornozelo e tinha um zíper na frente.” “Não usava nada embaixo, além da calcinha”, Ferguson disse.
“Gostaria de saber como você descobriu isso”, Marino falou.
“Marca de calcinha, mas não de sutiã. Sou pago pelo governo estadual para prestar atenção em tudo. Mas os federais não me pagam bosta nenhuma”, disse, olhando em volta da mesa.
“Ninguém ganha bosta nenhuma para vir aqui”, Marino disse.
Ferguson puxou o maço de cigarro. “Alguém se importa se eu fumar?”
“Eu me importo.”
“É, e eu também.”
“Kay.”
Wesley empurrou um envelope pardo grosso em minha direção. “Relatório da autópsia, mais fotos.”
“Cópias a laser?”, perguntei, pois não as apreciava muito; os pontos eram muito grandes, só se conseguia ter uma ideia razoável examinando o material a certa distância.
“Não. Fotos mesmo.”
“Que bom.”
“Buscamos características e estratégias do criminoso, certo?” Wesley encarou os presentes. Algumas pessoas balançaram a cabeça. “Temos um suspeito viável. Ou melhor, presumo que estamos presumindo isso.”
“Quanto a mim, nenhuma dúvida”, Marino disse.
“Vamos passar à cena do crime, depois às características da vítima”, Wesley prosseguiu, folheando os relatórios.
“Acho melhor deixarmos os nomes de criminosos conhecidos de fora, por enquanto.”
Ele nos observou, por cima dos óculos de leitura. “Cadê o mapa?” Ferguson entregou as fotocópias.
“A casa da vítima e a igreja foram marcadas, assim como o caminho que ela fez, passando pelo lago, a caminho de casa, de volta da igreja.” Emily Steiner poderia passar por oito ou nove anos, com seu corpo e rosto frágeis. Quando sua última foto escolar foi tirada, na primavera anterior, usava um suéter verde abotoado. O cabelo cor de palha era repartido do lado e arrumado com uma presilha em forma de papagaio. Pelo que sabíamos, nenhuma outra foto havia sido batida até a manhã cristalina de 7 de outubro, quando um senhor idoso chegou ao lago Tomahawk para pescar. Depois de instalar a cadeira dobravel na margem barrenta, notou uma meia rosada num arbusto próximo. A meia, como logo notou, cobria um pé.
“Seguimos pelo mesmo caminho”, Ferguson disse, mostrando slides. A sombra de sua esferográfica apontava o local, na tela. “Localizamos o corpo aqui.”
“A que distância estava, em relação à igreja e à casa?”
“Na metade do caminho, a um quilômetro e meio dos dois pontos, se a gente for de carro. Um pouco menos, em linha reta.”
“E o caminho em torno do lago era reto?”
“Mais ou menos.” Ferguson continuou: “Ela estava deitada, com a cabeça apontando para o norte. Meia parcialmente descalçada no pé esquerdo e calçada no direito. Temos um relógio e um colar. Usava pijama de flanela azul e calcinha, que até o momento não foram encontrados. Eis a foto do ferimento na parte posterior da cabeça”.
A sombra da caneta se moveu, e acima de nós, pelas paredes, chegaram os sons abafados dos tiros disparados nas cabines do prédio.
O corpo de Emily Steiner estava despido. Um exame detalhado, feito pelo legista da comarca de Buncombe, revelou que havia sido sexualmente molestada. As marcas escuras brilhantes na parte interna das coxas, peito e ombro eram áreas onde a carne fora removida. A mesma fita adesiva alaranjada, larga, havia sido usada para amarrar e amordaçar a menina. Como causa da morte, um único disparo de arma de fogo de pequeno calibre, na parte de trás da cabeça.
Ferguson passou os slides restantes e, enquanto as imagens da criança assassinada brilhavam na escuridão, todos permaneceram em silêncio. Nenhum policial que eu conhecia conseguia se acostumar com mutilações e assassinato de crianças.
“Sabemos qual a condição meteorológica em Black Mountain, entre os dias 1º e 7 de outubro?”, perguntei.
“Nublado. Abaixo dos dez graus à noite, um pouco acima, durante o dia”, Ferguson respondeu. “Em geral.”
“Em geral?”, olhei para ele.
“Em média”, disse lentamente, quando as luzes se acenderam de novo. “Sabe como é, a gente soma as temperaturas e divide pelo número de dias.”
“Agente Ferguson, qualquer alteração significativa é importante”, falei com um distanciamento que traía minha crescente antipatia pelo sujeito. “Um único dia com a temperatura mais elevada poderia alterar o estado do cadáver.”
Wesley começou outra página de anotações. Quando parou, olhou para mim. “Doutora Scarpetta, se ela foi morta logo depois do sequestro, em que estágio estaria a decomposição no momento em que a encontramos, no dia 7 de outubro?”
“Pelas condições descritas, esperaria um estado moderado de decomposição”, respondi. “Também esperaria atividade de insetos e provavelmente outros danos postmortem, dependendo do grau de exposição do corpo a animais carnívoros.”
“Em outras palavras, ela deveria estar em pior estado do que está aqui”, ele tocou as fotos, “caso estivesse morta havia seis dias.” “Mais decomposta do que vemos aí, sem dúvida.”
O suor brilhava nas têmporas de Wesley e havia umedecido o colarinho de sua camisa branca engomada. Podiam-se ver as veias saltadas, na testa e no pescoço.
“Surpreende-me que nenhum cachorro a tenha encontrado.”
“Ora, Max, isso não me espanta. Não estava numa cidade cheia de vira-latas soltos. Nossos cachorros ficam presos no canil ou na coleira.”
Marino concentrava-se em seu detestável hábito de picar copinhos plásticos de café.
O corpo, de tão pálido, parecia cinzento, com descoloração esverdeada no quadrante inferior direito. As pontas dos dedos estavam ressecadas, a pele recuara das unhas.
Os cabelos e a pele do pé começavam a se soltar. Não vi sinais de ferimentos em consequência de tentativa de defesa, nem cortes, contusões ou unhas quebradas que indicassem luta.
“As árvores e os arbustos podem tê-la protegido do sol”, comentei, enquanto sombras vagas passavam por meus pensamentos. “E não parece que os ferimentos sangraram muito, pois isso atrairia predadores.”
“Presumimos que ela foi assassinada em outro local”, Wesley interrompeu. “Ausência de sangue, falta de roupas, localização do corpo e outros fatores indicam que ela foi molestada e morta em outro lugar. Só depois foi levada para o ponto em questão. Pode dizer se a carne que falta foi arrancada depois da morte?”
“No momento da morte ou logo depois”, respondi.
“Para remover marcas de mordidas, como em casos anteriores?”
“Não posso afirmar, pelo que vi até agora.”
“Em sua opinião, os ferimentos são similares aos de Eddie Heath?” Wesley referia-se a um rapaz de treze anos, assassinado por Temple Gault em Richmond.
“Sim.” Abri outro envelope e tirei uma série de fotografias da autópsia, presas com elástico. “Nos dois casos, temos remoção de pele do ombro e parte superior da coxa. Eddie também foi morto com um tiro na cabeça e levado para outro local.”
“A semelhança entre os tipos físicos do rapaz e da menina, apesar da diferença dos sexos, também me chama atenção. Heath era miúdo, pequeno, pré-adolescente. A filha dos Steiner era pequena, quase pré-adolescente.”
Ressaltei: “Há uma diferença que vale a pena ser registrada. Não encontramos cortes superficiais nem cruzados junto aos ferimentos de Steiner”.
Marino explicou aos policiais da Carolina do Norte: “No caso Heath, deduzimos que Gault tentou, inicialmente, erradicar as marcas das mordidas retalhando a área com uma faca. Em seguida, provavelmente concluindo que isso não funcionaria, passou a remover pedaços de pele do tamanho do bolso da minha camisa. Desta vez, com a menina, já tinha aprimorado o método, de forma que simplesmente cortou fora as partes mordidas, e pronto”.
“Sabe, estou realmente incomodado com esta conclusão. Não podemos afirmar que tenha sido Gault.”
“Faz quase dois anos, Liz. Duvido que Gault tenha virado evangélico ou entrado para a Cruz Vermelha.”
“Ninguém pode afirmar que ele não tenha feito algo do tipo. Bundy trabalhava num centro de apoio psicológico.”
“E Deus falava ao Filho de Sam.”
“Posso garantir que Deus não disse nada a Berkowitz”, Wesley disse, inabalável.
“Estou apenas dizendo que Gault – caso tenha sido ele – simplesmente cortou as marcas de mordida desta vez.”
“Bem, isso é verdade. Como acontece em todas as atividades, com o tempo os sujeitos pegam prática.”
“Meu Deus, só espero que ele não tenha chance de praticar mais nada.” Mote enxugou o lábio superior com o lenço.
“Estamos prontos para iniciar o perfil psicológico?”
Wesley olhou em torno da mesa.
“Acreditam que foi um homem branco?”
“Trata-se de um bairro predominantemente branco.”
“Sem dúvida.”
“Idade?”
“Age metodicamente, o que indica maturidade.”
“Concordo. Não creio que estejamos falando de um jovem delinquente, neste caso.”
“Eu começaria pelos vinte anos. Quase trinta, aposto.”
“Acho que tem mais de trinta. Ele é muito organizado. A arma escolhida, por exemplo. Ele a portava. Não usou nada encontrado no local do crime. E, pelo jeito, não teve dificuldade em dominar a vítima.”
“Segundo membros da família e amigos, não seria difícil controlar Emily. Era tímida, amedrontava-se facilmente. Além disso, vivia doente. Não saía do consultório do médico. Acostumara-se a obedecer a ordens de adultos. Em outras palavras, fazia o que a mandavam fazer.”
“Nem sempre.” O rosto de Wesley permaneceu inexpressivo, enquanto consultava as páginas do diário da menina. “Ela não deixou a mãe saber que estava acordada à uma da manhã, escrevendo debaixo das cobertas, com auxílio de uma lanterna. Não acredito que pretendesse contar à mãe que ia chegar mais cedo na igreja, no domingo à tarde. Sabemos se o menino, Wren, apareceu no horário combinado?”
“Ele só chegou na hora da reunião, às cinco.”
“E quanto ao relacionamento de Emily com outros meninos?”
“Mantinha relacionamentos típicos de uma criança de onze anos. Bem-me-quer, mal-me-quer.”
“O que há de errado com isso?”, Marino perguntou, e todos riram.
Continuei a ajeitar as fotos na minha frente, como cartas de tarô, enquanto meu desconforto crescia. O ferimento a bala, na parte posterior da cabeça, entrara pela região parietal-temporal direita do crânio, lacerando a dura-máter e a artéria meníngea média. Contudo, não havia contusões, nem hematomas subdurais ou epidurais. Tampouco encontrei reações vitais aos ferimentos na genitália.
“Quantos hotéis existem na área?”
“Calculo que uns dez. Alguns são pensões, residências que alugam quartos.”
“Checou os hóspedes que se registraram?”
“Para dizer a verdade, não pensamos nisso.”
“Se Gault esteve na cidade, hospedou-se em algum lugar.”
Os exames laboratoriais eram igualmente espantosos: nível de sódio elevado a 180, potássio vítreo em 58 miliequivalentes por litro.
“Max, vamos começar pelo Travel-Eze. Se você for lá, eu cuido do Acorn e do Apple Blossom. Talvez seja bom passar no Mountaineer, também, embora fique um pouco longe.”
“Gault preferiria um local que lhe garantisse o máximo de anonimato. Não gostaria que os empregados observassem suas entradas e saídas.”
“Bem, ele não teria muitas opções. Não há hotéis de grande porte.”
“Provavelmente não escolheria o Red Rocker, nem o Blackberry Inn.”
“Acho que não. Mas vamos investigar por via das dúvidas.”
“E quanto a Asheville? Deve haver hotéis maiores na cidade.”
“Há lugares de todos os tipos, desde que relaxaram as restrições às bebidas alcoólicas.”
“Pensa que ele levou a menina para o quarto e a matou lá?”
“Não. Definitivamente não. Não se pode manter uma criança sequestrada num hotel, sem que alguém note. Há arrumadeiras, serviço de quarto.”
“Por isso eu ficaria surpreso em saber que Gault se hospedou num hotel. A polícia começou a procurar Emily assim que ela foi raptada. Saiu em todos os noticiários.”
A autópsia fora realizada pelo doutor James Jenrette, legista convocado à cena do crime. Patologista do hospital de Asheville, Jenrette era contratado do estado para realizar autópsias, nas raras ocasiões em que isso era necessário, nas isoladas áreas montanhosas da Carolina do Norte. Sua menção a “sinais não explicados pelo ferimento a bala na cabeça” não ajudava muito. Tirei os óculos e esfreguei a ponta do nariz, enquanto Benton Wesley falava.
“E quanto a chalés para turistas e casas de temporada na região?”
“Sim, senhor”, Mote respondeu. “Há muitas.” E voltou-se para Ferguson. “Max, acho melhor checar também as casas e os chalés. Prepare uma lista, vamos ver quem andou alugando.” Percebi que Wesley notara minha agitação, pois disse: “Doutora Scarpetta? Tem algo a acrescentar?”.
“Estou perplexa com a ausência de reações vitais aos ferimentos”, falei. “Embora o estado do corpo indique que ela estava morta havia vários dias, os eletrólitos não combinam com os indícios físicos...”
“Como é?” Mote fez ar de quem não estava entendendo nada.
“O sódio está muito alto e como o sódio permanece relativamente estável após a morte, podemos concluir que o sódio estava alto no momento da morte.”
“E o que isso significa?”
“Pode significar que estava profundamente desidratada”, expliquei. “Por falar nisso, seu peso estava abaixo da média, para a idade. Sabemos algo sobre uma possível disfunção alimentar? Estava doente? Vomitando? Com diarreia? Costumava tomar diuréticos?” Observei os rostos em volta da mesa.
Ninguém respondeu. Ferguson disse: “Falarei com a mãe. Precisarei conversar com ela de qualquer maneira, quando voltar”.
“O nível de potássio está alto”, prossegui. “Isso também precisa ser explicado, pois o potássio do humor vítreo aumenta sensivelmente depois da morte, conforme as paredes celulares cedem e o liberam.”
“Humor vítreo?”, Mote perguntou.
“O fluido do olho é muito confiável, em testes, pois fica isolado, protegido, e portanto menos sujeito à contaminação e putrefação”, expliquei. “O nível de potássio nos interessa, pois sugere que ela estava morta havia mais tempo do que deduzimos pelos outros indícios.”
“Quanto tempo?”, Wesley perguntou.
“Seis ou sete dias.”
“Pode dar uma explicação para isso?”
“Exposição ao calor extremo, capaz de acelerar a decomposição.”
“Bem, não acho que seja o caso.”
“Ou um erro”, acrescentei.
“Pode checar?” Fiz que sim.
“O doutor Jenrette acredita que a bala no cérebro a matou instantaneamente”, Ferguson declarou. “Pelo que eu sei, se ela morreu na hora, não deveria haver reações vitais.”
“Nosso problema”, expliquei, “é que ela não deve ter morrido instantaneamente, só pelo ferimento no cérebro.”
“E quanto tempo ela sobreviveria?”, Mote quis saber.
“Algumas horas”, respondi.
“Outras possibilidades?”, Wesley perguntou, olhando para mim.
“Commotio cerebri. É como um curto-circuito elétrico. A pessoa leva um golpe na cabeça, morre instantaneamente, e não encontramos sinais de reações vitais.” Fiz uma pausa. “Pode ser também que todos os ferimentos tenham sido causados após a morte, inclusive o feito a bala.” Todos permaneceram em silêncio por um momento, avaliando aquela possibilidade.
O copo de café de Marino fora reduzido a uma pilha de pequenos fragmentos de plástico e o cinzeiro a sua frente estava cheio de embalagens de chiclete.
Ele disse: “Há indícios de que tenha sido sufocada primeiro?”.
Respondi que não.
Ele começou a pôr e a tirar a tampa da esferográfica. “Vamos conversar um pouco mais sobre a família. O que sabemos a respeito do pai, além de que ele já morreu?”
“Era professor na Academia Cristã de Broad River, em Swannanoa.”
“A escola frequentada por Emily?”
“Não. Ela ia à escola pública de primeiro grau, em Black Mountain. O pai morreu há cerca de um ano”, Mote acrescentou.
“Já sei disso”, falei. “O nome dele era Charles?” Mote fez que sim.
“E qual foi a causa da morte?”, perguntei.
“Não tenho certeza. Mas foi natural.” Ferguson acrescentou: “Ele sofria do coração”.
Wesley levantou-se e aproximou-se do quadro.
“Muito bem.” Destampou o marcador e começou a escrever. “Vamos repassar os detalhes. Vítima de classe média, branca, onze anos, vista pelos colegas pela última vez às seis da tarde do dia 1º de outubro, quando voltava para casa sozinha, depois de um encontro na igreja. Na ocasião, pegou um atalho, a trilha que acompanha a margem do lago Tomahawk, na verdade, uma pequena lagoa artificial.”
“Se olharem o mapa, verão que há uma sede de clube e uma piscina pública no lado norte do lago. Os dois locais só abrem no verão. Adiante, temos quadras de tênis e área para piquenique, que ficam abertas o ano inteiro. Segundo a mãe, Emily chegou em casa pouco depois das seis e meia. Foi para o quarto e estudou violão até a hora do jantar.”
“A senhora Steiner relatou o que Emily comeu naquela noite?”, perguntei ao grupo.
“Ela disse que comeram macarrão furadinho com queijo e salada”, Ferguson disse.
“A que horas?” De acordo com o relatório da autópsia, o estômago de Emily continha apenas uma pequena quantidade de fluido marrom.
“Por volta das sete e meia da noite, segundo a mãe.”
“Já teria digerido tudo, na hora do sequestro, às duas da madrugada?”
“Sim”, respondi. “O alimento já teria passado pelo estômago, bem antes desse momento.”
“Talvez não tenha recebido nem água nem comida no cativeiro.”
“Isso responderia à dúvida sobre o sódio e a possível desidratação?”, Wesley perguntou a mim.
“Certamente, é uma possibilidade.” Ele fez mais anotações. “Não há sistema de alarme na casa, nem cachorro.”
“Sabemos se alguma coisa foi roubada?”
“Talvez roupas.”
“De quem?”
“Talvez da mãe. Enquanto ela estava presa no closet, acredita ter ouvido o barulho de gavetas sendo abertas.”
“Nesse caso ele foi muito discreto. Ela também declarou que não deu por falta de nada, nem encontrou coisas fora do lugar.”
“O que o pai ensinava? Descobrimos isso?”
“Bíblia.”
“Broad River é uma comunidade evangélica. A criançada levanta cantando 'O pecado não penetrará em minha alma'.”
“Está brincando!”
“Estou falando sério.”
“Deus do céu.”
“Sim, falam muito Nele também.”
“Talvez possam dar um jeito no meu neto.”
“Ora, Hershel, ninguém pode dar um jeito no seu neto; você o mima demais. Quantas bicicletas ele tem? Três?”
Falei novamente. “Gostaria de saber mais a respeito da família de Emily. Presumo que sejam religiosos.”
“Muito.”
“Irmãos?” O tenente Mote tomou fôlego, profundamente. “Esta é a parte mais triste da história. Teve uma irmã, que morreu quando ainda era bebê.”
“Isso também aconteceu em Black Mountain?”, perguntei.
“Não, senhora. Aconteceu antes da mudança dos Steiner para a região. Eles vieram da Califórnia. Sabe, temos gente de todos os lugares.” Ferguson acrescentou: “Muitos forasteiros vão para as montanhas. Aposentados, famílias em férias, excursões de pessoas religiosas. Puxa vida, se me dessem um centavo por todo batista que passa lá, estaria rico”.
Olhei para Marino. Sua raiva era palpável como o calor. Seu rosto se afogueara. “O tipo de lugar que Gault escolheria. Os moradores leram histórias a respeito dele nas revistas People, The National Enquirer, Parade. Mas ninguém imagina que o desgraçado possa estar na cidade. Para eles, é como o Frankenstein. Não existe de verdade.”
“Não se esqueça do filme para a tevê que fizeram”, Mote falou.
“Quando foi isso?”, Ferguson perguntou, irônico.
“No último verão, segundo o capitão Marino. Não me recordo do nome do ator, mas é um astro dos filmes de terror, não é?” Marino não deu a mínima. Sua cruzada pessoal era mais importante, vibrava no ar. “Acho que o filho da mãe ainda está por lá.” Empurrando a cadeira, acrescentou mais um papel de chiclete ao cinzeiro.
“Tudo é possível”, Wesley disse, imperturbável.
“Então”, Mote disse, limpando a garganta. “Qualquer ajuda de vocês será muito bem recebida.” Wesley consultou o relógio. “Pete, quer fazer o favor de apagar as luzes novamente? Vamos repassar os casos antigos, mostrar aos nossos convidados da Carolina do Norte o que Gault fez durante as férias na Virgínia.” A hora seguinte foi ocupada por imagens terríveis brilhando no escuro como cenas retiradas dos meus piores pesadelos. Ferguson e Mote não tiraram os olhos arregalados da tela. Não disseram uma única palavra. Nem piscaram.
2
Através das janelas do centro de convivência, vi gordas marmotas tomando sol no gramado. Comi salada, enquanto Marino removia os últimos vestígios do frango frito especial que enchera seu prato.
O céu estava azul, meio desbotado; as árvores insinuavam as cores do fogo que exibiriam plenamente, no pico do outono. Até certo ponto, eu invejava Marino. As exigências atléticas de sua semana quase pareciam um consolo em comparação ao que me aguardava, ao que me espreitava com o aspecto lúgubre de um imenso abutre insaciável.
“Lucy está torcendo para você arranjar um tempinho e praticar tiro com ela, enquanto estiver por aqui”, disse-lhe.
“Vai depender muito dos modos dela. Se melhoraram...” Marino empurrou a bandeja.
“Gozado, ela também sempre diz isso a seu respeito.” Ele tirou um cigarro do maço.
“Importa-se?”
“Não faz diferença se eu me importo ou não, você fuma do mesmo jeito.”
“Você nunca dá uma folga a ninguém, doutora.” Ele agitava o cigarro no ar, enquanto falava. “Já diminuí bastante.” Acendeu-o com o isqueiro. “Confesse, você não para de pensar no cigarro, nem por um minuto.”
“Tem razão. Nem por um minuto deixo de pensar na estupidez que cometia, mantendo um vício tão desagradável e antissocial.” “Bobagem. Você sente uma bruta falta. Adoraria estar no meu lugar neste momento.” Ele soltou uma baforada de fumaca e olhou pela janela. “Qualquer dia o prédio inteiro vai afundar por causa dessas marmotas cretinas.”
“Por que Gault teria ido à Carolina do Norte?”, perguntei.
“Por que ele iria a qualquer lugar?” Os olhos de Marino endureceram. “Se fizer qualquer pergunta a respeito daquele filho da mãe, a resposta será sempre a mesma: porque deu vontade nele. Não vai parar na menina. Alguma outra criança – mulher, homem, sei lá, não importa quem – vai estar no lugar errado na hora errada, quando Gault resolver matar.”
“Acha mesmo que ele ainda está por lá?” Ele bateu a cinza. “Sim, acho que está.”
“Por quê?” “Porque a folia mal começou”, disse, no momento em que Benton Wesley entrava. “É o maior espetáculo da terra, e ele está lá, sentado, apreciando tudo. Morrendo de rir, enquanto a polícia de Black Mountain anda em círculos, tentando descobrir o que deve fazer. Investigam um homicídio por ano, em média, se quer saber.”
Observei Wesley, a caminho do bufê. Ele encheu um prato de sopa, pegou torradas e deixou alguns dólares na travessa onde os fregueses colocavam o dinheiro quando o caixa não estava no local. Não demonstrou nos ter visto, mas eu conhecia seu dom de notar os mínimos detalhes num ambiente, embora parecesse sempre distraído.
“Alguns pormenores da autópsia de Emily Steiner me deram a impressão de que o corpo pode ter sido refrigerado”, disse a Marino, enquanto Wesley caminhava em nossa direção.
“Claro. Com certeza, foi mesmo. No necrotério do hospital.”
Marino me olhou de soslaio.
“Pelo jeito, estou perdendo algo importante”, Wesley disse, puxando uma cadeira.
“Talvez o corpo de Emily Steiner tenha sido refrigerado antes de ser jogado na beira do lago”, falei.
“Com base em que diz isso?” Uma abotoadura de ouro com o símbolo do Departamento de Justiça brilhou no punho da camisa, quando ele estendeu o braço para pegar a pimenta.
“A pele estava flácida, seca”, respondi. “O corpo estava bem preservado e praticamente intacto, sem sinais de ter sido molestado por insetos ou outros animais.”
“Isso praticamente derruba a hipótese de Gault ter-se hospedado num hotelzinho para turistas”, Marino disse. “Ele não poderia ter socado o corpo num frigobar.” Wesley, sempre meticuloso, ergueu a colher com sopa de marisco e a levou à boca, sem derramar uma única gota.
“O que vocês mandaram para exame microscópico?”, perguntei.
“Bijuterias e meias”, Wesley respondeu. “E a fita adesiva, que infelizmente removeram antes da verificação das digitais. Foi cortada no necrotério.”
“Minha nossa”, Marino murmurou.
“No entanto é de um tipo diferente, e pode render alguma coisa. Na verdade, nunca vi fita adesiva larga cor de laranja como aquela.” Ele me encarava.
“Nem eu, com certeza”, falei. “O laboratório já descobriu alguma coisa?”
“Nada, exceto algumas marcas de graxa. As beiradas do rolo estavam sujas de graxa. Sei lá se isso adianta muito.”
“O que mais o laboratório está analisando?”, perguntei.
“Conteúdo da boca, solo sob o corpo, lençol e maca usados no transporte do lago ao necrotério.”
Minha frustração só aumentava à medida que ele falava. Pensava no que havia sido perdido. Imaginava as testemunhas microscópicas, silenciadas para sempre.
“Gostaria de ver as fotografias e os relatórios quando os resultados do laboratório chegarem”, disse-lhe.
“O que é meu é seu”, Wesley retrucou. “O laboratório vai entrar em contato com você diretamente.”
“Precisamos determinar o momento da morte com precisão”, Marino disse. “Ainda não ficou claro.”
“É muito importante estabelecer isso”, Wesley concordou. “Poderíamos rever os dados?”
“Verei o que posso fazer”, falei.
“Deveria estar em Hogan's Alley.” Marino se levantou da mesa, consultando o relógio. “Na verdade, acho que já começaram sem mim.”
“Espero que troque de roupa antes”, Wesley disse a ele. “Use moletom com capuz.”
“Tá legal. Assim eu morro de calor.”
“Melhor do que levar um tiro de tinta com uma nove milímetros”, Wesley disse. “Dói para danar.”
“É mesmo? Vocês dois combinaram dizer isso, por acaso?” Observamos sua saída. Abotoou o paletó para cobrir a barriga imensa, alisou o cabelo desgrenhado, ajeitou a calça e saiu andando. Marino tinha o hábito autoconsciente de arrumar-se como um gato toda vez que entrava ou saía de um lugar.
Wesley olhou para o cinzeiro sujo, no lugar onde Marino estivera sentado. Fixou os olhos em mim, e eles pareciam mais profundos. A boca estava tensa, como se nunca tivesse aprendido a sorrir.
“Precisamos fazer algo a respeito dele”, disse.
“Gostaria de ter condições de interferir, Benton”, falei.
“Você é a única com alguma chance.”
“Saber disso me amedronta.”
“O que amedronta mesmo é ver o rosto dele tão vermelho. Não está agindo como deveria. Não corta nem cigarro, nem bebida, nem as comidas gordurosas.” Wesley desviou a vista. “Desde que Doris o deixou, ele decaiu muito.”
“Notei algumas melhoras”, disse-lhe.
“Irrelevantes e precárias.” Ele me encarou de novo. “Em resumo: está se matando.” No geral, Marino passara a vida inteira a se maltratar. E eu não sabia o que fazer a respeito.
“Quando pretende voltar a Richmond?”, ele perguntou, enquanto eu pensava no que acontecia em sua vida. Pensei na esposa dele.
“Isso depende”, falei. “Estava pensando em passar mais tempo com Lucy.”
“Ela já contou que a queremos aqui?” Preferi olhar para a grama iluminada pelo sol, para as folhas agitadas pelo vento. “Ela ficou muito animada”, eu disse.
“E você, não.”
“Não.”
“Compreendo. Não quer que Lucy leve o mesmo tipo de vida que você, não é, Kay?” Seu rosto suavizou-se, quase imperceptivelmente. “Suponho que devo me sentir aliviado por ver que, pelo menos em uma questão, você não é totalmente racional e objetiva.”
Eu não era totalmente racional e objetiva em muitas coisas, e Wesley sabia muito bem disso.
“Nem sei direito o que ela faz aqui”, falei. “Como você se sentiria, se fosse sua filha?”
“Do mesmo jeito que me sinto em relação a meus filhos. Não quero que entrem para a polícia nem para o exército. Não quero que aprendam a usar armas. No entanto, gostaria que se envolvessem com tudo isso. Porque você sabe como é a vida”, disse, e meus olhos se fixaram nos dele mais tempo do que gostaria.
Ele dobrou o guardanapo e o depositou na bandeja. “Lucy gosta do que faz. E nós gostamos dela.”
“Fico contente em saber disso.”
“Ela é notável. O software que está ajudando a desenvolver no VICAP vai mudar tudo. Logo, logo poderemos caçar esses monstros pelo mundo inteiro. Pode imaginar? Se Gault matou uma menina na Austrália, por exemplo. Acha que saberíamos?” “Provavelmente não”, falei. “No mínimo, tardaríamos a descobrir. Nem sabemos com certeza se Gault matou esta menina, afinal.” “Mas sabemos que haverá cada vez mais vítimas, e cada minuto é precioso.” Ele pegou minha bandeja e a colocou em cima da sua.
Levantamo-nos da mesa.
“Que tal passarmos para cumprimentar sua sobrinha?”, ele sugeriu.
“Duvido que me deixem entrar lá.”
“Normalmente não deixariam. Mas, se esperar um pouco, acho que posso dar um jeito nisso.”
“Adoraria, na verdade.”
“Vamos ver. É uma hora, agora. Pode me encontrar aqui às quatro e meia?”, ele disse, enquanto saíamos do centro de convivência.
“Lucy se adaptou bem a Washington.” Ele se referia aos alojamentos menos cotados, nos quais as camas eram mínimas como as toalhas que não enxugavam quase nada. “Lamento não ter conseguido mais privacidade.”
“Não precisa. É bom para ela ter colegas de quarto, embora isso não queira dizer que se entenda com todas.”
“Gênios nem sempre gostam de trabalhar e conviver com simples mortais.”
“O relacionamento sempre foi um problema para Lucy”, encerrei o assunto.
Passei as horas seguintes ao telefone, numa tentativa infrutífera de localizar o Dr. Jenrette, que provavelmente tirara o dia de folga para jogar golfe.
Tive o prazer de saber que no meu departamento em Richmond estava tudo sob controle. Os casos do dia exigiram apenas exames externos e recolhimento de amostras de fluidos corporais. Felizmente não havia acontecido nenhum homicídio na noite anterior. Os dois casos prontos para julgamento naquela semana estavam em ordem. Encontrei Wesley no local e hora combinados.
“Use isto.” Ele me entregou um passe especial de visitante, que prendi no bolso do casaco, ao lado do crachá de identificação.
“Algum problema?”, perguntei.
“Foi duro, mas consegui resolver.”
“Fico feliz em saber que passei pela checagem da segurança”, disse, com ironia.
“Bom, foi por pouco.”
“Muito agradecida.” Ele parou e tocou minhas costas de leve quando passei primeiro pela porta.
“Nem precisaria dizer, Kay, que as coisas vistas e ouvidas no ERF não devem sair do prédio.” Na entrada do centro de convivência vimos um bando de estudantes da academia com camisetas vermelhas e todos os outros itens do vestuário ostentando o logotipo do FBI. Homens e mulheres atléticos passaram por nós, na escada de acesso, a caminho das salas, e não se avistava uma única camiseta azul na multidão de vermelho, pois havia mais de um ano que não se abria uma turma de novos agentes.
Seguimos o longo corredor até o saguão, onde um aviso digital, em cima do balcão de recepção, solicitava aos visitantes que mantivessem os passes à vista. Do outro lado das portas, o som distante dos tiros perturbava a tarde perfeita.
O Departamento de Pesquisa de Engenharia era composto de três prédios bege, de concreto e vidro, com portas grandes, cercados por alambrados altos. As fileiras de carros estacionados indicavam a presença de uma população que eu jamais via, pois o ERF parecia engolir os funcionários e despejá-los nos momentos em que todos dormiam.
No acesso, Wesley parou no sensor com teclado numérico preso na parede. Inseriu o polegar direito para que as lentes pudessem ler sua impressão digital. As instruções na tela pediam que teclasse seu número pessoal de identificação. A trava biométrica foi desativada com um clique suave.
“Obviamente, já esteve aqui antes”, comentei, quando ele segurou a porta para mim.
“Muitas vezes”, ele disse.
Tentava imaginar que atividades exigiam sua presença constante no setor, enquanto percorríamos o corredor bege, suavemente iluminado e silencioso, mais comprido do que dois campos de futebol. Passamos por laboratórios, onde cientistas de ternos escuros ou jalecos se dedicavam a pesquisas que eu desconhecia e que não poderia identificar apenas com um olhar. Homens e mulheres trabalhavam em cubículos e balcões, entre ferramentas, computadores, monitores de vídeo e aparelhos esquisitos.
Por trás de uma porta fechada, a serra elétrica cortava madeira.
No elevador, a impressão digital de Wesley foi novamente exigida, antes que pudéssemos entrar na zona silenciosa onde Lucy passava o dia inteiro. O segundo andar era, em essência, um crânio com ar condicionado envolvendo um cérebro artificial. Paredes e carpetes cinza-fosco, espaço geometricamente repartido, como numa fôrma de gelo. Cada cubículo continha duas escrivaninhas modulares, com computadores modernos, impressoras a laser e pilhas de papel. Foi fácil ver Lucy. Era a única analista a usar o agasalho esportivo do FBI.
Estava de costas para nós, com um jogo de fones de ouvido e microfone na cabeça, falando enquanto manipulava a caneta digital sobre um pad computadorizado, com uma das mãos. A outra usava o teclado. Se não a conhecesse tão bem, pensaria que estava compondo música.
“Não, não”, disse. “Um bip longo seguido de dois curtos significa que temos problemas no funcionamento do monitor. Pode ser a placa de vídeo.” Ela girou um pouco a cadeira e sua visão periférica acusou nossa presença.
“Sim, há uma diferença enorme se for apenas um bip curto”, explicou à pessoa na linha. “Quer dizer problemas numa das placas do sistema. Dave, posso ligar para você daqui a pouco?” Notei um scanner biométrico em sua mesa, meio escondido pelos papéis. No chão e na estante inteira havia manuais de programação enormes, caixas de disquetes e fitas, pilhas de revistas de computação e software, além de publicações de capa azul, com o emblema do Departamento de Justiça.
“Queria mostrar a sua tia o local onde você trabalha”, Wesley disse.
Lucy tirou o fone de ouvido; se ficou contente em nos ver, não demonstrou.
“No momento, estou mergulhada em problemas até o pescoço. Temos erros 486.” Ela disse, para esclarecer: “Estamos usando PCS para desenvolver uma Rede de Inteligência Artificial contra o Crime, conhecida por CAIN”.
“CAIN?” Fiquei espantada. “Trata-se de um nome irônico, para um sistema destinado a acompanhar criminosos violentos.” Wesley disse: “Suponho que podemos considerar esta a última contribuição do primeiro assassino do mundo. Ou, melhor ainda, dize-me com quem andas...”.
“Basicamente”, Lucy prosseguiu, “nossa meta para CAIN é criar um sistema automático capaz de reproduzir o mundo real com o máximo de fidelidade.”
“Em outras palavras”, falei, “que pense e aja como nós.”
“Exato.” Ela voltou ao teclado. “O relatório analítico dos crimes, ao qual estão acostumados, fica arquivado aqui.” Surgiram na tela as questões familiares do formulário de quinze páginas que eu costumava preencher havia anos, sempre que um corpo não era identificado, ou quando se tratava da possível vítima de um criminoso que havia matado antes e que mataria novamente.
“Foi resumido”, Lucy disse, chamando outras páginas.
“O formulário nunca foi o problema”, lembrei. “A dificuldade é fazer com que o pessoal o preencha e despache.”
“Agora eles têm opções”, Wesley disse. “Podem manter um terminal na delegacia. É só sentar e preencher o formulário on-line. Para os antiquados, mantemos a versão 40 em papel – original ou modificada – para ser enviada por malote ou fax.” “Aperfeiçoamos também a tecnologia de reconhecimento de caligrafia”, Lucy prosseguiu. “Pads para mensagens computadorizadas podem ser utilizados pelos policiais, quando estão nas viaturas, na delegacia ou no tribunal. E qualquer coisa obtida em papel – manuscrita ou não – pode ser introduzida no sistema, graças ao scanner.”
“O aspecto interativo inclui pedidos de informações ou um aviso, quando o sistema CAIN chega a uma conclusão. Ele se comunica de verdade com o policial, pelo modem, deixando mensagens de correio eletrônico ou viva voz.”
“O potencial é enorme”, Wesley me disse.
Sabia a verdadeira razão para ter sido levada até lá por ele. O cubículo parecia muito distante dos escritórios nas grandes cidades, assaltos a bancos e operações contra traficantes. Wesley queria me fazer crer que Lucy estaria segura, trabalhando para o FBI. Mas, conhecendo os ardis da mente humana, eu sabia que não era bem assim.
As páginas bem montadas que minha sobrinha mostrava na tela de seu moderno computador logo incluiriam nomes e descrições físicas que tornariam a violência algo real.
Montaria um banco de dados que pareceria um depósito de partes de corpos, torturas, armas e ferimentos. E, um dia, ela também ouviria os gritos silenciosos. Imaginaria as faces das vítimas na multidão, ao andar na rua.
“O que vocês pretendem aplicar aos policiais comuns também vale para nós, presumo”, comentei com Wesley.
“Nem precisa dizer. Os legistas também participarão da rede.” Lucy nos mostrou mais telas e descreveu outros recursos maravilhosos, em palavras de difícil compreensão para mim. Computadores eram a Babel moderna, concluí. Quanto mais alta a tecnologia, maior a confusão de idiomas.
“O maior valor da linguagem estrutural de busca”, explicava, “é sua condição mais declarativa do que navegacional. Ou seja, o usuário especifica o que deseja acessar no banco de dados, em vez de dizer como desejar acessá-lo.” Observei uma mulher que caminhava em nossa direção. Era alta e avançava em passadas largas, porém graciosas. O casaco longo esbarrava no joelho e ela girava um pincel lentamente, numa lata de alumínio.
“Já decidimos onde vamos rodar isso, quando ficar pronto?” Wesley continuou a conversar com minha sobrinha. “Num mainframe?”
“Na verdade, a tendência aponta na direção de ambientes que integrem usuários e bancos de dados. Sabe, LANS e minis. Estamos reduzindo tudo.” A mulher entrou em nosso cubículo e, quando olhou para cima, seus olhos se cravaram nos meus, encarando-me com intensidade antes de se desviarem.
“Alguém se esqueceu de me avisar da reunião?”, ela disse com um sorriso frio, colocando a lata em cima da mesa. Tive a impressão de que a visita a incomodava.
“Carrie, vamos ter de deixar nosso projeto para mais tarde. Lamento”, Lucy disse, acrescentando: “Esta é a doutora Kay Scarpetta, minha tia. Carrie Grethen”.
“Muito prazer”, disse Carrie Grethen; seus olhos me incomodavam.
Observei-a enquanto se acomodava na cadeira e ajeitava distraidamente o cabelo marrom-escuro, comprido, preso atrás ao estilo francês antigo. Calculei que teria trinta e poucos anos. A pele macia, os olhos escuros e os traços maravilhosamente esculpidos davam a seu rosto uma beleza patrícia, tão rara quanto notável.
Quando abriu uma gaveta, notei que mantinha seu local de trabalho em perfeita ordem, contrastando com a bagunça de minha sobrinha, pois Lucy vivia tão mergulhada em seu mundo esotérico que não pensava muito em onde guardar um livro ou papel. Apesar da capacidade intelectual amadurecida, era ainda a jovem estudante que mascava chiclete e vivia no meio do lixo.
Wesley falou: “Lucy? Por que não leva sua tia para conhecer o departamento?”.
“Claro.” Ela parecia relutante em sair da frente do monitor, mas se levantou.
“Então, Carrie, conte-me exatamente o que você faz aqui”, ouvi Wesley dizer, enquanto me afastava.
Lucy olhou na direção em que estavam e fiquei surpresa com a intensidade da emoção que perpassou por seus olhos.
“O que se pode ver nesta seção não precisa de explicações”, ela disse, distraída e tensa. “Gente na frente das estações de trabalho.”
“Todos fazem parte do VICAP?”
“Só temos três pessoas no CAIN. A maior parte do serviço desenvolvido aqui é tático”, ela olhou para trás novamente. “Digo tático, no sentido de utilizar os computadores para fazer com que o equipamento funcione de maneira mais eficiente. Por exemplo, os instrumentos de coleta eletrônica e alguns robôs usados pelo Gerenciamento de Crises e HRT.” Sua mente estava definitivamente em outro lugar quando me levou até o final do corredor, onde havia outra porta protegida pela fechadura biométrica.
“Poucas pessoas conseguem autorização para entrar aí”, ela disse, posicionando o polegar e teclando seu número de identificação pessoal. A porta de metal se abriu, dando para um espaço refrigerado, bem organizado, com fileiras de monitores, estações de trabalho e dúzias de moedas cheios de luzes piscando nas prateleiras. Cabos e mais cabos saíam da parte traseira dos equipamentos, desaparecendo no piso elevado. Nos monitores, letras azuladas anunciavam: CAIN. A luz artificial, como o ar, era fria e limpa.
“Guardamos aqui todos os dados sobre as digitais”, Lucy explicou.
“Das fechaduras eletrônicas?”
“Dos scanners que você vê por aí, para controle físico de acesso e banco de dados da segurança.”
“E este sofisticado sistema de fechaduras foi inventado pelo ERF?”
“Estamos aprimorando e eliminando defeitos. Na verdade, estou no meio de um projeto de pesquisa, relacionado a este sistema. Tenho muito trabalho a fazer.” Ela se debruçou sobre um monitor e ajustou o brilho da tela.
“No final, também estaremos guardando dados sobre as digitais de campo. Os policiais poderão prender alguém e usar um scanner eletrônico para registrar a digital”, prosseguiu. “A impressão digital do suspeito seguirá diretamente para o CAIN e, se ele cometeu outros crimes, nos quais tenha sido possível conseguir impressões e colocá-las no sistema, teremos a identificação positiva em segundos.” “Presumo que isso será ligado aos sistemas automáticos de identificação de digitais em uso no país inteiro.”
“No país e no mundo inteiro, espero. A ideia é concentrar todos os dados aqui.”
“Carriê também trabalha no CAIN?” Lucy pareceu atônita. “Sim.”
“Ela é uma das três pessoas.”
“Certo.” Como Lucy não disse mais nada, expliquei: “Ela me pareceu uma pessoa muito original”.
“Suponho que se possa dizer isso a respeito de todos que trabalham aqui”, minha sobrinha respondeu.
“De onde ela é?”, insisti, pois simpatizara instantaneamente com Carriê Grethen. Não sabia o motivo.
“Do estado de Washington.”
“Ela é legal?”, perguntei.
“Muito competente em sua área de atuação.”
“Isso não responde minha pergunta.”
“Tento evitar envolvimentos pessoais aqui. Por que está tão curiosa?” Ela adotou um tom francamente defensivo.
“Estou curiosa porque ela me deixou curiosa”, respondi simplesmente.
“Tia Kay, gostaria que não fosse tão protetora. Além disso, é inevitável que você, em função da profissão que escolheu, pense o pior a respeito de todo mundo.”
“Entendo. Suponho que seja inevitável também, em função da profissão que escolhi, pensar que todo mundo está morto”, comentei secamente.
“Isso é ridículo”, minha sobrinha falou.
“Só esperava que você conhecesse pessoas legais por aqui.”
“Também gostaria que deixasse de se preocupar com minhas amizades.”
“Lucy, não estou querendo interferir em sua vida. Só peço que tome cuidado.”
“Não é só isso. Você está interferindo.”
“Não foi minha intenção”, disse. Lucy conseguia me deixar mais furiosa do que qualquer outra pessoa.
“Sim, foi. No fundo, não gosta de me ver aqui.” Lamentei as palavras que pronunciei em seguida, no momento em que me saíram da boca. “Claro que quero. Afinal, fui eu quem arranjou este maldito estágio.” Ela me encarou, sem dizer nada.
“Lucy, lamento. Não vamos discutir. Por favor.” Baixei a voz e segurei seu braço.
Ela recuou. “Preciso verificar uma coisa.” Para minha surpresa, ela se afastou e me deixou sozinha na sala de segurança máxima, árida e fria como nosso encontro. As cores brilhavam nos monitores, luzes e números verdes e vermelhos piscavam, enquanto meus pensamentos zumbiam como o ruído contínuo ao fundo. Lucy era a única filha de minha irmã irresponsável, Dorothy; eu não tinha filhos. Mas o amor que sentia pela minha sobrinha não podia ser explicado simplesmente por isso.
Eu compreendia sua vergonha secreta, nascida do abandono e do isolamento, e usava aquela sua mesma roupa de amargura sob minha armadura polida. Quando cuidava dela estava cuidando de minhas feridas também. Mas não podia dizer isso a Lucy. Saí, garantindo que a porta se fechara atrás de mim. Wesley não deixou de notar a ausência de minha guia, na volta. Lucy não reapareceu para se despedir.
“O que aconteceu?”, Wesley perguntou, quando voltávamos para a academia.
“Infelizmente tivemos outro desentendimento”, falei.
Ele me encarou. “Qualquer dia lhe contarei minhas discussões com Michelle.”
“Se souber de algum curso para ser mãe ou tia me avise, que gostaria de me matricular. Na verdade, deveria ter feito o curso há muito tempo. Só perguntei a ela se tinha feito muitos amigos. Lucy ficou furiosa.”
“Qual é a sua preocupação?”
“Lucy é muito solitária.”
Ele pareceu surpreso. “Já falou nisso antes. Mas, para ser sincero, ela não me passa essa impressão, de modo algum.”
“Como assim?” Ele parou, para deixar que alguns carros passassem. O sol baixara e senti seu calor na nuca. Ele havia tirado o paletó e o levava pendurado no braço.
Tocou delicadamente meu antebraço, quando pudemos atravessar. “Fui ao Globe and Laurel, uma noite dessas, e vi Lucy por lá com uma amiga. Acho que era Carrie Grethen, mas não posso jurar. As duas estavam se divertindo muito, pelo jeito.” Minha surpresa não poderia ter sido maior, nem que Wesley dissesse que Lucy havia sequestrado um avião.
“E ela tem ficado até tarde no centro de convivência. Você só está vendo um lado de sua sobrinha, Kay. Pais e parentes sempre levam um choque quando descobrem o lado desconhecido.”
“O lado de que está falando é mesmo completamente desconhecido para mim”, disse-lhe, mas não senti nenhum alívio. A ideia de que existiam facetas de Lucy que eu não conhecia só me desconcertava.
Caminhamos em silêncio por um momento e quando chegamos ao lobby perguntei serenamente: “Benton, ela anda bebendo?”.
“Já tem idade para isso.”
“Entendo”, falei.
Estava a ponto de perguntar mais coisas, quando minhas preocupações foram interrompidas por um gesto brusco. Ele apanhou o pager no cinto e leu a mensagem, franzindo a testa.
“Vamos para a nossa unidade”, disse. “Precisamos ver o que está havendo por lá.”
3
O tenente Hershel Mote mal podia controlar a histeria de sua voz, quando Wesley retornou seu telefonema, às seis e vinte e nove da tarde.
“Onde você está?”, Wesley perguntou novamente, no telefone em viva voz.
“Na cozinha.”
“Tenente Mote, vamos com calma. Diga exatamente onde está.”
“Na cozinha da casa do agente Max Ferguson do SBI. Não posso acreditar. Nunca vi nada semelhante.”
“Há mais alguém aí?”
“Estou completamente sozinho. A não ser pelo que há lá em cima, como já falei. Chamei o legista e o pessoal de plantão está convocando quem estiver disponível.”
“Vamos com calma, tenente”, Wesley repetiu, com a fleuma habitual.
Dava para ouvir a respiração ofegante de Mote.
“Tenente Mote? Aqui é a doutora Scarpetta”, falei. “Gostaria que deixasse tudo exatamente como encontrou.”
“Ai, meu Deus”, ele disse. “Eu já cortei a corda...”
“Tudo bem...”
“Quando entrei... Que Deus me perdoe, mas eu não poderia deixá-lo lá, daquele jeito.”
“Tudo bem”, tentei acalmá-lo.
“Mas agora é importante que ninguém toque nele.”
“E quanto ao legista?” “Nem mesmo ele.”
Wesley olhava para mim. “Estamos a caminho. Chegaremos aí antes das vinte e duas horas. Neste meio tempo, não faça nada.” “Sim, senhora. Vou ficar aqui, sentado na poltrona, até meu peito parar de doer.”
“Quando a dor começou?”
“Quando cheguei aqui e o encontrei. Senti uma dor forte no peito.”
“Já sentiu dores assim antes?”
“Não que eu me lembre. Não tão fortes.”
“Descreva exatamente o que está sentindo.”
“É uma dor bem no meio.”
“A dor passou para o pescoço ou para o braço?”, perguntei, cada vez mais alarmada.
“Não, senhora.”
“Sente tontura? Está suando?”
“Suando um pouco.”
“Dói quando tosse?”
“Não tossi, por isso não sei dizer.”
“Já teve problemas do coração, ou de pressão alta?”
“Não que eu saiba.”
“Fuma?” “Estou fumando agora.”
“Tenente Mote, quero que me ouça com atenção. Apague o cigarro e tente se acalmar. Estou muito preocupada, porque sofreu um choque terrível e fuma. Pode sofrer um ataque do coração. Ordeno que chame uma ambulância imediatamente.”
“A dor diminuiu um pouco. O legista vai chegar a qualquer momento. Ele é médico.”
“Seria o doutor Jenrette, por acaso?”, Wesley perguntou.
“É o único que temos por aqui.”
“Não quero que cometa nenhum abuso, com essas dores no peito, tenente Mote”, disse com firmeza.
“Está bem, doutora.” Wesley anotou endereços e números telefônicos. Desligou e fez outra chamada.
“Pete Marino ainda está por aí?”, perguntou a quem atendeu o telefonema. “Então diga a ele que temos uma emergência. Diga-lhe que pegue a mala e nos encontre no HRT assim que puder. Explicaremos tudo quando ele chegar.”
“Sabe, eu gostaria de chamar Katz para este caso”, falei, quando Wesley se levantou da mesa. “Precisaremos recolher todas as impressões digitais possíveis, caso as coisas não sejam o que parecem.”
“Boa ideia.”
“Duvido que esteja na Lavoura de Corpos a esta hora. Talvez seja bom tentar o pager dele.”
“Certo. Vou tentar localizá-lo”, disse, referindo-se a meu colega, especialista da polícia científica de Knoxville.
Quando cheguei ao saguão, vinte minutos depois, Wesley já estava lá, com a bolsa de viagem ao ombro. Eu só havia conseguido trocar os tênis por um par de sapatos mais adequado, pegar algumas roupas e a maleta médica.
“Dr. Katz está saindo de Knoxville neste momento”, Wesley me disse. “Ele vai nos encontrar na cena do crime.” A noite se impunha atrás de uma fatia de lua. O vento soprando nas árvores fazia barulho de chuva. Wesley e eu seguimos pela rua em frente à Jefferson, atravessando a pista que dividia o complexo da academia em escritórios e cabines de tiro. Perto de onde estávamos, na zona desmilitarizada das churrasqueiras e mesas de piquenique, sob as árvores, vi um vulto familiar tão fora de contexto que pensei, por um instante, ter-me equivocado. Mas logo me lembrei que Lucy contara, certa vez, que costumava sair para dar uma volta depois do jantar, para pensar um pouco. Meu coração bateu mais rápido, com a possibilidade de fazer as pazes com ela.
“Benton”, falei, “já volto.” O som débil da conversa chegava até onde eu estava, na beira do bosque. Pensei que minha sobrinha falava sozinha. Lucy havia sentado no tampo de uma mesa de piquenique; quando me aproximei e já ia chamar seu nome, vi que conversava com uma pessoa sentada no banco, mais embaixo. Estavam tão próximas que projetavam uma única sombra, e parei, protegida pela escuridão e um pinheiro alto, denso.
“É porque você sempre age assim”, Lucy estava dizendo, num tom magoado que eu conhecia bem demais.
“Não, é porque você sempre acha que eu estou agindo assim.” O tom de voz da mulher era conciliador.
“Ora, então é só não me dar motivo.”
“Lucy, não podemos deixar isso de lado? Por favor.”
“Quero um cigarro.”
“Não gostaria que começasse a fumar.”
“Não vou começar. Só dar umas tragadas.” Ouvi o ruído de um fósforo sendo riscado, e a pequena chama brilhou na escuridão. Por um instante, o perfil de minha sobrinha foi iluminado. Ela se aproximou da amiga, cujo rosto eu não conseguia ver. A ponta do cigarro brilhava, conforme elas o passavam de uma para a outra. Dei meia-volta em silêncio e fui embora.
Wesley andava de um lado para o outro, quando voltei. “Algum conhecido?”, perguntou.
“Pensei que fosse”, falei.
Caminhamos sem conversar, passando pelas cabines de tiro vazias, com seus alvos enfileirados e silhuetas metálicas, eternamente em posição de sentido. Adiante, uma torre de controle se erguia num edifício inteiramente construído com pneus, onde o HRT, os boinas-verdes do FBI, realizava manobras com munição de verdade. Um helicóptero Bell Ranger azul e branco aguardava no gramado, como um inseto adormecido. O piloto conversava com Marino, do lado de fora.
“Falta alguém?”, o piloto perguntou, quando nos aproximamos.
“Ninguém. Obrigado, Whit, podemos ir”, Wesley disse.
Whit, um perfeito espécime de boa forma física masculina em seu macacão preto de piloto, abriu as portas do helicóptero para que subíssemos. Prendemos os cintos de segurança. Marino e eu ficamos atrás, e Wesley na frente. Ele colocou o protetor de ouvido, quando as pás começaram a rodar e o motor a jato zumbiu mais forte, aquecendo o motor.
Minutos depois, a terra escura já se afastava de nossos pés. Subimos acima do horizonte, com o sistema de ventilação aberto e as luzes da cabine apagadas. Nossas vozes surgiam e sumiam pelo transmissor, enquanto o helicóptero voava para o Sul, a caminho da cidadezinha na serra, onde mais uma pessoa morrera.
“Ele não poderia estar em casa havia muito tempo”, Marino disse.
“Sabemos...?”
“Ele não estava.” A voz de Wesley o interrompeu, vinda do lugar do copiloto. “Saiu de Quantico logo depois da reunião. Pegou o voo da uma, no National.”
“Sabemos a que horas o avião pousou em Asheville?”
“Por volta das quatro e meia. Ele pode ter chegado em casa às cinco.”
“Em Black Mountain?”
“Isso mesmo.”
Falei: “Mote o encontrou às seis”.
“Minha nossa”, Marino disse, voltando-se para mim. “Ferguson, no minuto em que chegou, deve ter começado a...” O piloto o interrompeu: “Temos música, se alguém quiser ouvir”.
“Claro.”
“De que tipo?”
“Clássica.”
“Sem essa, Benton.”
“Você está em minoria, Pete.
“Ferguson não estava em casa havia muito tempo. Isso já ficou claro, independentemente do que ou de quem seja a culpa”, disse, retomando a conversa quando Berlioz começou a soar no fundo.
“Parece acidente. Auto-erotismo que deu errado, algo assim. Mas ainda não podemos afirmar nada.” Marino me cutucou. “Você tem aspirina?” Procurei na bolsa, depois tirei um estojo de primeiros socorros da maleta médica, mas não achei nenhuma aspirina. Marino resmungou palavrões quando disse que não poderia ajudá-lo. Percebi que ainda usava a calça do agasalho esportivo, blusa de moletom com capuz e botas de amarrar, a mesma coisa que usava em Hogan's Alley.
Parecia um técnico de futebol beberrão de um time de várzea. Não resisti, e comentei as reveladoras manchas de tinta vermelha nas costas e no ombro. Marino levara dois tiros.
“É, mas você precisava ter visto os outros caras”, sua voz soou abruptamente em meus ouvidos. “E você, Benton? Tem aspirina?” “Está enjoado?”
“Com todo este divertimento, não dá para ficar enjoado”, Marino respondeu. Odiava voar.
O clima nos ajudava, enquanto abríamos caminho na noite clara, a centenas de quilômetros por hora. Os carros, lá embaixo, deslizavam como vaga-lumes. As luzes da civilização piscavam como incêndios na mata. A escuridão vibrante teria feito com que eu dormisse, não fosse pelo estado dos meus nervos. Minha mente recusava-se a descansar. As imagens se chocavam e as dúvidas surgiam.
Via o rosto de Lucy, a linha adorável de seu queixo, quando se debruçou em direção à chama protegida pelas mãos em concha da amiga. As vozes passionais ressonavam em minha memória, sem que eu soubesse por que estava tão intrigada. Não deveria me importar. Tinha vontade de descobrir o quanto Wesley sabia. Minha sobrinha estava em Quantico desde o início do semestre de outono. Estivera muito mais tempo com ela do que eu.
Não soprou nenhum vento até que chegássemos às montanhas; durante algum tempo a terra transformou-se numa planície negra como piche.
“Subindo para quatro mil e quinhentos pés”, soou a voz do piloto, nos fones de ouvido. “Tudo bem com vocês, aí atrás?”
“Acho que não posso fumar aqui, né?”, Marino disse.
O céu negro se encheu de estrelas, às dez para as nove, e a Blue Ridge era um oceano negro sem som nem movimento. Acompanhamos as longas sombras das matas, virando com uma alteração no movimento das pás na direção de um prédio de tijolos, que deduzi ser a escola. Atrás dele havia um campo de futebol, com luzes piscando nas viaturas e tochas para iluminar desnecessariamente o local da nossa aterrissagem. O Nightsun de trinta milhões de velas brilhou na barriga da aeronave, e começamos a descer. Na linha de cinquenta metros, Whit pousou com a suavidade de um pássaro.
“Estádio dos War Horses”, Wesley leu numa faixa estendida na cerca alambrada. “Espero que tenham uma temporada melhor do que a nossa.” Marino olhava pela janela, enquanto as pás reduziam a velocidade de giro. “Não compareço a um jogo de futebol escolar desde o tempo em que eu participava do time.”
“Não sabia que você jogava futebol americano”, comentei.
“Pois é. Número doze.”
“Em que posição?”
“Defesa.”
“Combina com você”, falei.
“Estamos na verdade em Swannanoa”, Whit anunciou. “Black Mountain fica a leste daqui.” Fomos recebidos por dois policiais uniformizados de Black Mountain. Pareciam jovens demais para dirigir veículos e portar armas. Suas faces eram pálidas e peculiares.
Tentavam não encarar ninguém. Era como se tivéssemos descido de uma espaçonave, entre luzes giratórias, num silêncio apavorante. Não sabiam o que pensar de nós, nem o que estava acontecendo na cidade deles. Sem dizerem praticamente nada, levaram-nos embora.
Pouco depois, estacionamos numa rua estreita, lotada de viaturas e luzes de emergência. Contei três carros de polícia, além do nosso, mais a ambulância, dois caminhões dos bombeiros, dois carros comuns e um Cadillac.
“Legal”, Marino murmurou, ao fechar a porta do carro. “Veio todo mundo, e ainda trouxeram a família.” Fitas de isolamento iam da varanda até a cerca viva, nos dois lados do sobrado bege com paredes de alumínio. Um Ford Bronco estava estacionado no acesso de cascalho, na frente de um Skylark com antenas e luzes da polícia.
“Os carros são de Ferguson?”, Wesley perguntou, quando subimos os degraus de cimento.
“O que está no acesso é, sim senhor”, respondeu o policial. “Ele está lá em cima, no quarto com aquela janela ali.” Fiquei decepcionada quando o tenente Hershel Mote surgiu de repente na porta de entrada. Obviamente não seguira meus conselhos.
“Como se sente?”, perguntei.
“Vou indo.” Parecia tão aliviado ao nos ver que quase esperei ganhar um abraço. Mas seu rosto estava cinzento. O suor tingira o colarinho de sua camisa de denim, brilhando no pescoço e na nuca. Fedia a cigarro.
Hesitamos, no vestíbulo, de costas para a escada que conduzia ao piso superior.
“O que foi feito até agora?”, Wesley perguntou.
“O doutor Jenrette tirou fotos, um montão, mas não tocou em nada, como mandaram. Está lá fora, conversando com o pessoal; se precisarem dele...”
“Vi muitos carros lá fora”, Marino disse. “Cadê todo mundo?”
“Alguns estão na cozinha. Outros foram revistar o jardim ou procurar pistas no mato, lá no fundo.”
“E ninguém subiu?” Mote soltou um suspiro, com força.
“Bem, não posso ficar mentindo para vocês. Eles subiram para dar uma olhada. Mas ninguém mexeu em nada, isso eu garanto. O doutor foi o único que se aproximou.”
Ele começou a subir a escada. “Max está... ele... Porra, que droga.” Ele parou e olhou para trás, com os olhos úmidos de lágrimas.
“Não ficou claro como você o encontrou”, Marino disse.
Retomamos a subida, enquanto Mote lutava para retomar a compostura. O assoalho era coberto com o mesmo carpete vermelho que eu encontrara no térreo. O revestimento das paredes era cor de mel, de pinho exageradamente envernizado.
Ele limpou a garganta. “Por volta das seis da tarde passei aqui para ver se Max queria sair para jantar. Como ele não atendeu, calculei que estava tomando banho e entrei.”
“Sabe de algo que possa sugerir a inclinação dele para este tipo de atividade?”, Wesley perguntou, com delicadeza.
“Não, senhor”, Mote disse, ressentido. “Nem posso imaginar. Não entendo o que é... Ouvi dizer que muita gente faz coisas esquisitas. Mas nem sei para que serve.”
“O objetivo de usar uma corda com nó durante a masturbação é exercer pressão sobre a carótida”, expliquei. “Isso reduz o fluxo de sangue e portanto de oxigênio para o cérebro, o que supostamente amplia a sensação do orgasmo.”
“Também conhecido como sufocar o ganso”, Marino comentou, com sua habitual sutileza.
Mote não nos acompanhou, quando seguimos para a porta aberta no final do corredor iluminado.
Max Ferguson, agente do SBI, dormia num quarto despojadamente masculino, modesto até, com cômoda de pinho e uma prateleira cheia de espingardas e rifles em cima da escrivaninha. Revólver, carteira, documentos e uma caixa de camisinhas Rough Rider estavam em cima da mesa de cabeceira da cama coberta por uma manta. Vi o terno que usara em Quantico naquela manhã, cuidadosamente dobrado em cima de uma cadeira, com sapato e meia ao lado.
Um barzinho de madeira separava o banheiro do closet, a poucos centímetros do local onde o corpo jazia, coberto por uma manta colorida de crochê. Acima dele, uma corda de náilon cortada balançava num gancho parafusado ao forro de madeira. Tirei as luvas e o termômetro de minha maleta. Marino praguejou, quando puxei a coberta de cima do corpo de Ferguson, numa cena que teria sido digna de seus piores pesadelos. Duvido que levar um tiro o assustasse tanto.
Ele estava de costas, usando sutiã tamanho grande recheado com meias de leve odor almiscarado. A calcinha de náilon preto que vestira antes de morrer havia sido abaixada até a altura do joelho, e uma camisinha ainda pendia, meio solta, de seu pênis. Revistas espalhadas revelavam sua predileção por mulheres amarradas, com seios espetaculares e mamilos do tamanho de pires.
Examinei o nó na corda de náilon enrolada com força em torno da toalha que protegia seu pescoço. A corda, velha e gasta, fora cortada logo acima da oitava volta de um perfeito nó de forca. Seus olhos estavam quase fechados, e a língua se projetava para fora da boca.
“Ele poderia estar sentado no banquinho?”, Marino perguntou, olhando para o pedaço de corda pendurado no teto.
“Sim”, falei.
“Quer dizer que estava se masturbando e escorregou?”
“Ou talvez tenha perdido a consciência e depois escorregado”, respondi.
Marino aproximou-se da janela, debruçando-se sobre uma garrafa de líquido âmbar, no parapeito. “Bourbon”, anunciou. “Puro, ou quase.” A temperatura retal era de 32,7 graus, mais ou menos o que eu esperava, no caso de Ferguson estar morto há aproximadamente cinco horas e de ter sido coberto. O rigor mortis começara nos músculos menores. A camisinha possuía um reservatório grande, que estava seco. Aproximei-me da cama para dar uma espiada na caixa. Faltava uma camisinha, mas quando entrei no banheiro encontrei a embalagem metálica roxa no cesto de lixo de palha.
“Isso é interessante”, disse, enquanto Marino abria as gavetas.
“O que é?”
“Imaginei que ele deveria colocar a camisinha quando tivesse a ereção.”
“Faz sentido, para mim.”
“Então, não esperaria encontrar a embalagem ao lado do corpo?” Retirei o invólucro do lixo, evitando ao máximo tocá-lo, e o guardei num saco plástico.
Como Marino não respondeu, prossegui: “Bem, acho que tudo depende do momento em que ele baixou a calcinha. Talvez tenha feito isso antes de passar o laço no pescoço”.
Retornei ao quarto. Marino se agachara ao lado da cômoda, olhando para o corpo, revelando na expressão uma mistura de incredulidade e nojo.
“E eu sempre pensei que a pior coisa que poderia acontecer era ter um treco sentado na privada”, ele disse.
Olhei para o gancho preso no forro. Não havia como determinar quando fora fixado lá. Comecei a perguntar a Marino se ele encontrara outros materiais pornográficos, quando um baque seco no corredor atraiu nossa atenção.
“Mas que diabo...!”, Marino exclamou.
Ele saiu correndo, e eu fui atrás.
O tenente Mote desmaiara perto da escada. Estava de bruços, imóvel, sobre o carpete. Ajoelhei-me a seu lado e o virei. Já estava azul.
“Sofreu um ataque do coração! Chame a ambulância!” Abri a boca de Mote, para garantir a passagem do ar.
Ouvi os passos pesados de Marino na escada, enquanto levava os dedos à carótida de Mote. Não consegui sentir o pulso. Bati no peito com força, mas o coração não reagia. Comecei o procedimento padrão para ressuscitá-lo, batendo no peito uma, duas, três, quatro vezes.
Depois virei a cabeça para trás e fiz respiração boca a boca. O peito estufou. Bati, um-dois-três-quatro, e soprei novamente.
Mantive a frequência de seis compressões por minuto. O suor escorria pelas minhas têmporas; meu coração disparou. Os braços doíam, e já começava a senti-los endurecer como pedra, quando ouvi, no terceiro minuto, o ruído dos paramédicos e policiais na escada. Alguém me puxou pelo cotovelo e pediu que eu saísse da frente. Mãos enluvadas ataram as correias, penduraram um frasco de soro IV e começaram o trabalho de reanimá-lo. Vozes rugiam ordens, anunciando cada providência com o distanciamento ruidoso das equipes de emergência e prontos-socorros.
Encostada na parede, tentei recuperar o fôlego. Notei um jovem claro, baixo, impropriamente trajado, como se viesse de um jogo de golfe, a me observar da escada.
Depois de me olhar por algum tempo, aproximou-se.
“Doutora Scarpetta?” Seu rosto franco estava bronzeado, abaixo da linha da testa, que obviamente fora poupada do sol, graças a um boné. Deduzi que o Cadillac estacionado na frente da casa pertencia a ele.
“Pois não?”
“James Jenrette”, ele disse, confirmando minhas suspeitas.
“Está bem?” Ele tirou um lenço cuidadosamente dobrado do bolso e o ofereceu a mim.
“Estou bem e fico contente em saber que está aqui”, falei com sinceridade, pois não poderia entregar meu paciente a alguém que não fosse médico formado. “Posso confiar o tenente Mote a seus cuidados?” Meus braços tremiam, quando enxuguei o rosto e o pescoço.
“Certamente. Eu o acompanharei até o hospital.” Jenrette me deu seu cartão. “Se precisar de alguma coisa esta noite, mande um recado pelo pager.”
“Vai fazer a autópsia de Ferguson amanhã de manhã?”, perguntei.
“Sim, e a doutora é bem-vinda. Poderemos conversar com calma sobre tudo isso.” Ele olhou para o corredor.
“Estarei lá. Muito obrigada.” Consegui sorrir.
Jenrette acompanhou a maca e eu voltei ao quarto, no final do corredor. Pela janela, observei as luzes vermelhas que piscavam na rua, enquanto Mote era colocado dentro da ambulância. Temi por sua sobrevivência. Senti a presença de Ferguson na camisinha frouxa e no sutiã estufado, e nada daquilo me pareceu real.
A porta da ambulância foi fechada. As sirenes guincharam, como se protestassem, antes de gritar. Só me dei conta de que Marino estava no quarto quando ele tocou meu braço.
“Katz está lá embaixo”, informou.
Dei meia-volta, lentamente. “Vamos precisar de outra equipe”, disse-lhe.
4
Encontrar impressões digitais na pele humana era, havia muito tempo, uma possibilidade teórica. As possibilidades de recuperá-las eram tão remotas que desencorajavam a maioria das tentativas.
A pele é uma superfície ingrata. Plástica e porosa, sofre a interferência de umidade, pelos e óleos naturais. Nos raros momentos em que uma impressão digital é transferida com sucesso do atacante para a vítima, a fragilidade dos detalhes impede sua sobrevivência por muito tempo, sob impacto dos elementos.
Dr. Thomas Katz, cientista forense, dedicara grande parte de sua carreira a tentar recuperar essa prova tão frágil, com dedicação maníaca. Especializara-se também em determinar a hora da morte, que procurava estabelecer por métodos e meios não muito conhecidos da maioria. Seu laboratório era conhecido como Lavoura de Corpos, e eu já o visitara várias vezes.
Baixo, tinha olhos azuis adoráveis, farta cabeleira branca e um rosto surpreendentemente benévolo para alguém que vira tantas atrocidades. Quando o encontrei no alto da escada, carregava um ventilador, uma caixa de ferramentas e algo que se parecia com um pedaço de tubo de aspirador de pó, com apêndices esquisitos. Marino vinha atrás, com o resto do equipamento que Katz chamava de “equipamento para aspersão de cianoacrilato”, uma caixa grande de alumínio, dotada de resistência e ventilador de computador. Dedicara centenas de horas, na garagem de sua casa em East Tennessee, ao aperfeiçoamento daquele instrumento mecânico relativamente simples.
“Para onde vamos?”, Katz perguntou.
“Para o quarto no final do corredor.” Ajudei-o, pegando o ventilador. “Como foi a viagem?”
“Um trânsito desgraçado. Descreva o que foi feito com o corpo.”
“Foi removido. Cortaram a corda e o cobriram com uma manta de lã. Ainda não o examinei.”
“Prometo não atrasar muito o seu serviço. Agora é muito mais fácil, pois não preciso me preocupar em armar a barraca.”
“Como assim, barraca?”, Marino perguntou, franzindo o cenho, quando entramos no quarto.
“Costumava colocar o corpo dentro de uma barraca de plástico, para borrifá-lo. Mas, se pegar muito vapor, a pele fica prejudicada. Doutora Scarpetta, poderia instalar o ventilador naquela janela?” Katz olhou em torno. “Acho melhor usar uma panela com água. Está um pouco seco, aqui.”
Relatei o que sabíamos sobre o caso até aquele momento.
“Tem razões para pensar em outra causa, além de asfixia erótica acidental?”
“Além das circunstâncias”, falei, “não tenho nada.”
“Ele estava trabalhando no caso da menina Steiner?”
“É isso que estamos querendo dizer com as tais circunstâncias”, Marino falou.
“Minha nossa, saiu em todos os jornais e noticiários.”
“Estivemos juntos em Quantico, hoje de manhã, na reunião sobre o caso”, acrescentei.
“E ele voltou para casa e fez isso.” Katz olhou para o corpo, pensativo. “Sabe, encontramos uma prostituta num lixão e conseguimos uma boa impressão da mão em volta do tornozelo da moça. Ela estava morta havia quatro ou cinco dias.”
“Kay?” Wesley surgiu na soleira da porta. “Podemos conversar por um minuto?”
“E você usou esta coisa nela?” A voz de Marino nos acompanhou até o corredor.
“Sim. Ela pintava as unhas. Descobri que isso é ótimo.”
“Para quê?”
“Descobrir digitais.”
“Onde ponho isto?”
“Não importa muito. Pretendo borrifar o quarto inteiro. Vai fazer uma sujeira danada.”
“Acho que ele não vai reclamar.”
No andar de baixo, na cozinha, notei uma cadeira, ao lado do telefone, onde Mote passara horas esperando nossa chegada, deduzi. Do lado, no assoalho, havia um copo com água e um cinzeiro lotado de pontas de cigarro.
“Veja só”, disse Wesley, que estava acostumado a procurar pistas improváveis nos lugares mais estranhos.
Ele enchera a pia com a comida retirada do freezer. Aproximei-me, enquanto abria um pacote pequeno, chato, embrulhado em papel branco para congelamento. Dentro, vi pedaços enrugados de carne congelada, ressecados nas beiradas, lembrando um pergaminho amarelado.
“Alguma chance de eu estar enganado em minhas conclusões?” O tom de Wesley era sombrio.
“Meu Deus do céu!”, exclamei, surpresa.
“Estava no freezer, em cima das outras coisas. Carne moída, costeleta de porco, pizza.” Ele mexeu nos pacotes com as mãos enluvadas. “Esperava que fosse pele de frango. Talvez seja boa como isca de pescaria. Sei lá.”
“Não há orifícios para as penas, e o pêlo é fino, como cabelo humano.” Ele ficou em silêncio.
“Precisamos guardar isso no gelo seco, e levar conosco”, falei.
“Mas não vamos voltar esta noite.”
“Assim que conseguirmos realizar os testes imunológicos, confirmaremos que é humano. Depois, o DNA confirmará a identidade.”
Ele guardou o pacote no freezer. “Precisamos checar as digitais.”
“Colocarei o tecido no plástico, e submeteremos o papel de congelamento aos exames de laboratório”, falei.
“Ótimo.” Subimos a escada. Meu pulso não diminuía. No final do corredor, Marino e Katz estavam parados, em frente à porta fechada. Haviam enfiado a mangueira pelo buraco onde antes ficava a fechadura. O equipamento zumbia, enquanto vaporizava Super Bonder no quarto de Ferguson.
Wesley ainda não mencionara o óbvio, então eu resolvi falar. “Benton, não vi marcas de mordidas, nem outra coisa que alguém pudesse querer erradicar.”
“Já percebi”, ele falou.
“Estamos quase terminando”, Katz disse, quando chegamos onde estavam. “Imagine, um quarto deste tamanho, e fazemos o serviço com menos de cem gotas de Super Bonder.”
“Pete”, Wesley disse, “temos um problema inesperado.”
“Pensei que nossa cota de hoje já estava esgotada”, ele disse, olhando inexpressivamente para a mangueira que vaporizava o quarto, do outro lado da porta fechada.
“Acho que já chega”, disse Katz, ignorando como de costume o que ocorria a sua volta. “Só precisamos ventilar o quarto. Não leva mais de um ou dois minutos.” Ele abriu a porta, e nós recuamos. O cheiro forte não parecia incomodá-lo nem um pouco.
“Esse veneno provavelmente dá barato nele”, Marino disse, quando Katz entrou no quarto.
“Ferguson guardava no freezer um pacote com pele similar à humana”, Wesley falou, indo direto ao assunto.
“Você está querendo dizer que foi aquele sujeito de novo?”, Marino disse, espantado.
“Não sabemos com o que estamos lidando aqui”, Wesley acrescentou, quando o ventilador dentro do quarto começou a funcionar. “Mas um policial morreu e guardava provas incriminadoras no meio dos hambúrgueres e das pizzas. Outro policial sofreu um ataque do coração. Uma menina de onze anos foi assassinada.”
“Diabo”, Marino disse, e seu rosto ficou vermelho.
“Espero que tenham trazido roupas suficientes para passar algum tempo por aqui”, Wesley acrescentou, dirigindo-se a nós dois.
“Diabo”, Marino repetiu. “Aquele filho da puta.” Ele olhou direto para mim e eu sabia exatamente o que estava pensando. Uma parte de minha mente torcia para que estivesse enganado. Mas se Gault não iniciara outro de seus jogos macabros, tínhamos uma alternativa que não prometia ser melhor em nada.
“Esta casa tem porão?”, perguntei.
“Sim”, Wesley respondeu.
“E quanto a uma geladeira grande?”
“Não vi nenhuma. Mas ainda não verifiquei no porão.”
Dentro do quarto, Katz desligou o ventilador. Fez sinal para que entrássemos.
“Cara, esta merda não vai sair nunca”, Marino disse, olhando em torno.
Quando a Super Bonder seca, é pior do que cimento. Todas as superfícies do quarto exibiam uma fina camada da cola, inclusive o corpo de Ferguson. Com a lanterna meio torta, Katz iluminou manchas nas paredes, mobília e parapeito da janela, bem como nas armas sobre a escrivaninha. Uma delas fez com que se ajoelhasse.
“É o náilon”, nosso amigo cientista maluco disse encantado, ao ajoelhar-se ao lado do corpo e debruçar-se sobre a calcinha de Ferguson, meio abaixada. “Sabem, trata-se de uma ótima superfície para impressões, por causa da trama apertada. Ele estava usando algum perfume.” Ele puxou a bainha plástica de sua escova Magna, e os pelos se abriram como uma anêmona marinha. Desatarraxando a tampa de um vidro de pó magnético Delta Orange, Katz polvilhou uma impressão digital razoavelmente nítida, que alguém deixara na calcinha preta do policial morto. Havia digitais parciais no pescoço de Ferguson, e Katz usou pó preto contrastante nelas. Mas não continham detalhes suficientes para permitir sua utilização. A camada fina e branca, parecida com gelo, conferia um ar frio ao quarto.
“Claro, esta impressão na calcinha provavelmente é dele mesmo”, Katz comentou, prosseguindo com seu trabalho. “Deixou a marca quando baixou a calcinha. Deveria ter algo nas mãos. As camisinhas provavelmente eram lubrificadas, e se um pouco do produto foi transferido para o dedo, deixou uma bela impressão. Vocês vão precisar disso?” Referia-se à calcinha.
“Claro que sim”, falei.
Ele balançou a cabeça. “Tudo bem. Posso me virar com as fotos.” Ele tirou a máquina fotográfica. “Mas gostaria de ficar com a calcinha, quando vocês terminarem. Desde que não usem tesoura, a impressão permanecerá intacta. Esta é a vantagem da Super Bonder. Não sai nem com dinamite.”
“O que mais precisa fazer aqui esta noite?”, Wesley me perguntou, e pude notar que ele estava ansioso para ir embora.
“Gostaria de verificar os itens que podem se perder no transporte do corpo e cuidar do material que você encontrou no freezer”, expliquei. “Além disso, precisamos dar uma espiada no porão.” Ele fez que sim, e disse a Marino: “Enquanto cuidamos destas coisas, que tal providenciar a segurança do local?”.
Marino não se mostrou entusiasmado com a missão. “Diga a eles que precisaremos de vigilância vinte e quatro horas”, Wesley acrescentou, com firmeza.
“O problema é que nesta cidade não há policiais em quantidade suficiente para fazer uma operação de vinte e quatro horas, qualquer que seja”, Marino comentou, rabugento, ao sair. “O filho da mãe acabou com metade do departamento de polícia.”
Katz ergueu os olhos e falou, com a escova Magna parada no ar. “Pelo jeito, vocês sabem muito bem o que estão procurando.” “Não temos certeza”, Wesley disse.
“Thomas, preciso de outro favor seu”, falei a meu colega dedicado. “Gostaria que você e o doutor Shade fizessem uma experiência na Lavoura.”
“Doutor Shade?”, Wesley disse.
“Lyall Shade é antropólogo da Universidade do Tennessee”, expliquei.
“Quando começamos?” Katz colocou mais um rolo de filme na câmera.
“Imediatamente, se for possível. Vai levar uma semana.”
“Corpos frescos ou velhos?”
“Frescos.”
“O nome do sujeito é mesmo esse?”, Wesley insistiu.
Katz respondeu, enquanto tirava uma foto. “Claro que é. Soletra-se L-Y-A-L-L. Família tradicional. O bisavô foi cirurgião durante a Guerra de Secessão.”
5
Descemos ao porão de Max Ferguson pelos degraus de concreto, nos fundos da casa, e pude observar, pelas folhas secas sobre eles, que ninguém estivera ali recentemente.
No entanto, não poderia afirmar nada com segurança, pois estávamos em pleno outono, naquela região montanhosa. Quando Wesley tentou abrir a porta, as folhas caíam em espiral, sem fazer ruído, como se as estrelas estivessem soltando cinzas.
“Vou ter de quebrar o vidro”, ele disse, forçando a maçaneta, enquanto eu segurava a lanterna.
Abrindo o paletó, ele tirou a pistola nove milímetros Sig Sauer do coldre de ombro e desferiu uma coronhada no vidro que havia no meio da porta. O ruído de vidro quebrado me assustou, embora eu o esperasse. Quase temi o súbito aparecimento da polícia, na escuridão. Mas o vento não trouxe o som de passadas nem de vozes humanas.
Imaginei o terror existencial sentido por Emily Steiner, antes de sua morte. Não importa onde tenha ocorrido, ninguém ouvira um grito sequer, ninguém aparecera para salvá-la.
Os caquinhos de vidro que ficaram na porta brilharam quando Wesley enfiou cuidadosamente o braço pelo buraco e tateou em busca da maçaneta.
“Droga”, disse, tentando forçar a porta. “O trinco deve estar enferrujado.” Esticando o braço para poder girar melhor a maçaneta, ele jogou o peso do corpo contra a porta, quando esta subitamente cedeu. Wesley perdeu o equilíbrio e entrou com tanta força que bateu em minha mão, fazendo com que a lanterna caísse. Ela bateu no chão, rolou e apagou ao se chocar com o concreto. Fui atingida por um golpe de ar frio, fétido. Na escuridão total, ouvi ruído de vidro partido, quando Wesley se mexeu.
“Está tudo bem?” Estendi as mãos para a frente, como um cego. “Benton?”
“Minha nossa.” Ele parecia abalado, ao se levantar.
“Você está bem?”
“Droga, não acredito nisso.” Sua voz afastou-se de mim.
O vidro fazia barulho, conforme ele se movia ao longo da parede. Uma lata de tinta vazia, ou algo assim, rolou fazendo estardalhaço quando ele a atingiu involuntariamente com o pé. Semicerrei os olhos, quando uma lâmpada se acendeu no teto. Ajustei a vista e deparei com Benton Wesley, sujo, sangrando.
“Deixe-me ver.” Levantei delicadamente seu pulso esquerdo, enquanto ele observava o local, ainda meio tonto. “Benton, precisamos ir a um hospital”, falei, enquanto examinava os cortes em sua palma. “Há cacos de vidro em vários cortes e você precisa de uns pontos.”
“Você é médica.” O lenço que enrolou na mão se tingiu instantaneamente de vermelho.
“Precisa ir para o hospital”, insisti, notando que uma mancha de sangue se espalhava no tecido rasgado da perna esquerda da calça.
“Odeio hospitais.” Apesar do estoicismo, a dor brilhava em seus olhos, como uma febre. “Vamos dar uma espiada rápida e sair daqui. Prometo não sangrar até a morte, por enquanto.”
Gostaria de saber onde Marino tinha se metido, afinal.
Aparentemente, o agente Ferguson, do SBI, não entrava no porão havia anos. Tampouco vi motivo para que o fizesse, a não ser que gostasse de poeira, teias de aranha, carpete podre e ferramentas de jardinagem enferrujadas. A água manchara os blocos da parede e o piso de concreto. Restos de corpos de grilos indicavam que várias gerações haviam vivido e morrido ali. Andando de um lado para outro, não víamos nada que indicasse a presença de uma visitante como Emily Steiner.
“Já vi o suficiente”, Wesley disse, e a trilha de sangue no chão completara um círculo.
“Benton, precisamos fazer algo a respeito dos cortes.”
“O que sugere?”
“Olhe para lá, por um instante.” Apontei para o sentido oposto.
Ele não discutiu e ficou de costas para mim. Tirei o sapato e levantei a saia. Em poucos segundos tirei a meia-calça.
“Muito bem. Vire-se e estenda o braço”, disse em seguida.
Prendi o braço dele entre o cotovelo e o corpo, como qualquer médico faria, em circunstâncias similares. Enquanto enrolava a meia-calça em sua mão machucada, senti seus olhos fixos em mim. Senti intensamente seu hálito em meu cabelo, o braço em meu seio, e um calor subir até a nuca, tão palpável que temi que ele o percebesse também. Atônita, totalmente constrangida, terminei rapidamente o curativo de emergência e recuei.
“Isso vai servir por enquanto, até chegarmos a um local onde eu possa cuidar direito dos ferimentos”, falei, evitando os olhos dele.
“Muito obrigado, Kay.”
“Suponho que precisamos pensar no que fazer em seguida”, disse no tom mais neutro possível, para disfarçar minha agitação. “A não ser que pretenda dormir no helicóptero.”
“Encarreguei Pete de providenciar as acomodações.”
“Você gosta de viver perigosamente.”
“Em geral, não tão perigosamente assim.” Ele apagou a luz e nem tentou trancar de novo a porta do porão.
A lua era uma moeda dourada partida ao meio, o céu que rodeava tingia-se do azul da meia-noite e por entre os ramos das árvores distantes viam-se as luzes dos vizinhos de Ferguson. Será que eles já sabiam de sua morte? Na rua, encontramos Marino no banco dianteiro de uma viatura da polícia de Black Mountain, fumando um cigarro com o mapa aberto no colo. A luz interna estava acesa e o jovem policial ao volante não parecia menos tenso do que antes, quando nos apanhou no campo de futebol.
“O que diabos aconteceu a você?”, Marino disse a Wesley. “Resolveu socar uma janela?”
“Mais ou menos”, Wesley respondeu.
Os olhos de Marino passaram da atadura de meia-calça de Wesley para minha perna descoberta. “Ora, ora, quem diria”, resmungou. “Gostaria de ter aprendido isso no curso de primeiros socorros.”
“Cadê as malas?”, perguntei, ignorando seu comentário.
“No porta-malas, doutora”, respondeu o jovem policial.
“O guarda T. C. Baird, aqui presente, vai bancar o bom samaritano e nos levar até o Travel-Eze, onde vosso criado providenciou reservas”, Marino disse, no mesmo tom irônico irritante. “Três suítes de luxo, por trinta e nove e noventa e nove cada uma. Consegui desconto porque somos da polícia.”
“Não sou da polícia”, disse, encarando-o.
Marino jogou a ponta do cigarro pela janela. “Não se preocupe, doutora. Quando está de bom humor, consegue agir como se fosse.”
“Quando está de bom humor, você também consegue”, respondi.
“Acho que isso foi um insulto.”
“Não, mas eu fui insultada. Sabe que não deveria mentir a meu respeito nem para conseguir descontos nem por qualquer outro motivo”, disse, pois ocupava um cargo de confiança no governo, regido por regras rígidas.
Marino sabia muito bem que eu não podia permitir o menor desvio e precisava ser sempre muito escrupulosa, pois tinha inimigos. Aos montes.
Wesley abriu a porta traseira do carro. “Entre”, disse em voz baixa. E perguntou ao guarda Baird: “Teve mais notícias de Mote?”.
“Está na UTI, senhor.”
“Em que condições?”
“Péssimas, no momento, senhor.” Wesley sentou-se ao meu lado, pousando delicadamente a mão machucada sobre a coxa. E disse: “Pete, precisamos conversar com um monte de gente daqui”.
“Sim, e enquanto vocês brincavam de médico no porão, eu já estava cuidando disso.” Marino ergueu o bloco de anotações, mostrando as páginas cheias de notas ilegíveis.
“Podemos ir?”, Baird perguntou.
“Já deveríamos ter ido”, Wesley disse. Percebi que ele também estava perdendo a paciência com Marino.
O rapaz desligou a luz interna e pôs o carro em movimento. Por algum tempo Marino, Wesley e eu conversamos como se o jovem policial não estivesse ali. Passamos por ruas escuras e desconhecidas, enquanto o vento frio da montanha soprava pelas frestas das janelas entreabertas. Delineamos a estratégia para o dia seguinte. Eu ajudaria o Dr. Jenrette na autópsia de Max Ferguson. Marino interrogaria a mãe de Emily Steiner. Wesley retornaria a Quantico, com o tecido encontrado no freezer de Ferguson.
O resultado dessas atividades determinaria nossos passos seguintes.
Vimos o Travel-Eze a nossa frente, na US-70, por volta das duas da manhã. O luminoso amarelo brilhava contra o horizonte escuro. Não estaria mais feliz se me hospedasse no Four Seasons. No entanto, logo fui informada de que o restaurante estava fechado, o serviço de quarto encerrado e não havia bar. Na verdade, o recepcionista disse, com seu forte sotaque da Carolina do Norte, que àquela altura seria melhor pensar no café da manhã e esquecer o jantar que havíamos perdido.
“Você deve estar brincando”, Marino disse, revelando no rosto sua fúria. “Se eu não comer alguma coisa, meu estômago vai virar pelo avesso.”
“Lamento muito, senhor.” O recepcionista era ainda um menino, de rosto rosado e cabelo quase tão amarelo quanto o luminoso do hotel. “Por outro lado, há máquinas de salgadinhos em todos os andares.” Ele apontou. “E um Mr. Zip a cerca de um quilômetro daqui.”
“Nosso carro já foi embora.” Marino o encarou. “Como é? Acha que eu vou andar um quilômetro, a esta hora, para ir num lugar chamado Mr. Zip?” O sorriso do rapaz congelou-se. O medo fez com que seus olhos brilhassem como duas velas. Virou-se para Wesley e para mim, como a pedir socorro. Mas estávamos cansados demais para ajudá-lo. Quando Wesley colocou a mão ensanguentada e enrolada numa meia-calça sobre o balcão, o rapaz ficou horrorizado.
“Senhor! Precisa de um médico?” Sua voz subiu uma oitava, e desafinou.
“Basta a chave do quarto, obrigado”, Wesley respondeu.
O recepcionista deu meia-volta e retirou três chaves dos respectivos escaninhos, deixando cair duas no carpete. Abaixou-se para pegá-las e novamente deixou cair uma delas. Finalmente conseguiu entregar as chaves. Os números dos quartos estavam escritos em letras enormes sobre placas de plástico; poderiam ser lidos a vinte passos de distância.
“Já ouviu falar em segurança, nesta espelunca?”, Marino disse, como se odiasse o rapaz desde o dia de seu nascimento. “Você deveria anotar o número do quarto num papel e entregá-lo discretamente ao hóspede, para evitar que um ladrão descubra onde ele guarda o Rolex e a mulher. Caso não saiba das novidades, houve um assassinato aqui perto, não faz nem duas semanas.”
Sem fala, atônito, o rapaz viu Marino erguer a chave, como se fosse uma prova incriminadora.
“Não tem chave do frigobar? Quer dizer que a esta hora não dá nem para tomar um drinque?” Marino ergueu a voz mais um pouco. “Nem precisa responder. Não quero ouvir mais nenhuma notícia ruim.” Ao caminhar pela calçada do pequeno motel, vimos telas de televisão brilhando por trás das cortinas finas que protegiam as sombras em movimento nos quartos da curiosidade alheia. As portas vermelhas e verdes, alternadas, me fizeram lembrar os hotéis e casas plásticas do jogo Banco Imobiliário. Subimos ao segundo andar, onde estavam nossos quartos. O meu era arrumado, aconchegante, com televisão suspensa, copos para água e balde de gelo embrulhado em plástico.
Marino seguiu para o quarto dele sem nos dar boa noite e bateu a porta com força.
“Mas que diabos está acontecendo com ele?”, Wesley perguntou, enquanto me seguia até meu quarto.
Não queria falar a respeito de Marino, e puxei uma cadeira para o lado da cama, dizendo: “Antes de mais nada, precisamos limpar as feridas”.
“Só com anestesia.” Wesley encheu o balde de gelo e tirou uma garrafa de bolso de Dewars da mala. Preparou os drinques, enquanto eu abria a toalha sobre a cama e espalhava o fórceps, as embalagens de Betadine e os rolos de sutura de náilon 5.0.
“Vai doer, não é?” Ele olhava para mim, enquanto bebia um gole de scotch.
Coloquei os óculos e disse: “Vai doer para danar. Siga-me”. Fui para o banheiro.
Passamos os minutos seguintes lado a lado, na pia, enquanto eu lavava os ferimentos com água quente e sabonete. Fui o mais cuidadosa possível, e ele não reclamou de nada. No entanto, senti que retesava os músculos da mão. Quando olhei seu rosto no espelho, vi que transpirava e estava pálido. Havia cinco cortes profundos na palma da mão.
“Por sorte, os cortes não seccionaram a artéria radial”, disse.
“Pois é, sou mesmo um sujeito de sorte.” Olhando para o joelho dele, falei: “Sente-se aqui”. Abaixei a tampa do vaso.
“Quer que eu tire a calça também?”
“Se não tirar, precisarei cortá-la.” Ele sentou. “Já está rasgada mesmo.” Com um bisturi, cortei a lã fina da calça, enquanto ele se mantinha imóvel, com a perna esticada. O corte no joelho era fundo, e precisei remover os pelos em volta com um barbeador. Em seguida, lavei o ferimento, espalhando toalhas pelo chão, para evitar que a água ensanguentada sujasse tudo. Levei Wesley de volta ao quarto.
Ele mancou até a garrafa de uísque e encheu o copo.
“Agradeço a gentileza”, disse-lhe, “mas não costumo beber antes de uma cirurgia.”
“Sorte minha, então”, ele disse.
“Isso mesmo.” Ele se acomodou na cama, e eu na cadeira, bem perto. Abri uma embalagem de Betadine, e comecei a esterilizar as feridas.
“Minha nossa, o que é isso? Ácido de bateria?”
“Apenas um bactericida tópico à base de iodo.”
“E você carrega isso sempre na sua maleta médica?”
“Sim.”
“Não pensei que seus pacientes precisassem de primeiros socorros.”
“Infelizmente não precisam. Mas eu posso precisar, certo?” Peguei o fórceps. “Ou alguém na cena de um crime, como você.” Retirei um caco de vidro, e o coloquei sobre a toalha. “Sei que pode ser um choque para você, agente especial Wesley, mas comecei minha carreira com pacientes vivos.”
“E quando eles começaram a morrer?”
“Imediatamente.” Ele retesou a mão, quando tirei outro caco.
“Não se mexa”, falei.
“Então, qual é o problema de Marino? Ele tem sido um cavalo, ultimamente.”
Depositei mais dois cacos de vidro na toalha e estanquei o sangramento com gaze. “Acho melhor tomar mais um gole.”
“Por quê?”
“Já tirei todos os cacos de vidro.”
“Quer dizer que já acabou e que vamos comemorar?” Nunca o vi tão aliviado.
“Ainda não.” Examinei sua mão de perto, para garantir que não havia deixado passar nada. Depois abri um pacote de sutura.
“Sem Novocaína?”, reclamou.
“Como bastam alguns pontos para fechar os cortes, uma injeção de anestesia doeria mais do que a costura”, expliquei calmamente, segurando a agulha com o fórceps.
“Mesmo assim, prefiro a Novocaína.”
“Bem, não tenho. Seria melhor se não ficasse olhando. Gostaria que eu ligasse a televisão?” Wesley olhou para o outro lado, estoicamente, ao responder, rilhando os dentes: “Acabe logo com isso”.
Não se queixou mais, enquanto eu trabalhava. Mas quando tocava a mão, ou a perna, sentia seus tremores. Ele respirou fundo, e começou a relaxar, enquanto eu fazia o curativo com Neosporin e gaze.
“Você é um ótimo paciente”, disse, tocando em seu ombro, ao me levantar.
“Minha mulher não acha.” Não me lembrava da última vez em que se referira a Connie pelo nome. Nas raras ocasiões em que a mencionava, fazia uma rápida alusão a uma força da qual apenas tinha consciência, como a gravidade.
“Vamos sentar lá fora para tomar um drinque”, ele disse.
O terraço na porta do meu quarto acompanhava o segundo piso inteiro e não tinha nenhuma privacidade. Naquela hora, porém, os poucos hóspedes acordados estariam muito distantes para escutar nossa conversa. Wesley colocou duas cadeiras de plástico bem próximas. Não havia mesa, de modo que deixamos os copos e a garrafa de scotch no chão.
“Quer mais gelo?”, ele perguntou.
“Assim está bom.” Ele havia apagado as luzes do quarto. Na nossa frente, as silhuetas das árvores, indistintas, moviam-se conforme eu me concentrava nelas. Os faróis passavam, diminutos e esporádicos, na rodovia distante.
“Numa escala de um a dez, que nota daria para o dia de hoje?”, ele disse, baixinho, na escuridão.
Hesitei, pois passara dias terríveis em minha profissão. “Sete, eu suponho.”
“Supondo que dez seja a pior nota, claro.”
“Sim. Mas ainda não tive um dia nota dez.”
“O que seria?”, ele me encarava.
“Não sei bem”, falei, temendo mencionar o pior e atrair desgraça, por superstição.
Ele ficou em silêncio; imaginei que pensava no homem que havia sido meu amante e seu melhor amigo. Quando Mark foi assassinado em Londres, alguns anos atrás, eu achava que não poderia sentir dor mais profunda do que aquela. Agora pensava que talvez estivesse errada.
Wesley disse: “Você não respondeu minha pergunta, Kay”.
“Disse que não sabia.”
“Não me refiro a esta pergunta. Falo de Marino. Perguntei qual era o problema dele.”
“Creio que está muito infeliz”, falei.
“Ele sempre foi infeliz.”
“Eu disse muito!” Ele esperou. “Marino não gosta de mudanças”, acrescentei.
“Fala da promoção?”
“Disso e do que está acontecendo comigo.”
“E o que está acontecendo com você?” Wesley encheu os copos com scotch, e seu braço roçou no meu.
“Minha posição na sua unidade é uma mudança e tanto.” Ele não concordou nem discordou, esperando que eu me estendesse sobre o assunto. “Creio que ele já percebeu que mudei minhas alianças.” Percebi que continuava sendo muito vaga. “E isso é incômodo, para Marino.” Wesley não deu nenhuma opinião, só agitou levemente o gelo, ao tomar um gole. Sabíamos muito bem qual era o problema de Marino, embora Wesley e eu não tivéssemos feito nada. Na verdade, Marino pressentia algo no ar.
“Em minha opinião, Marino está muito frustrado com sua vida pessoal”, Wesley disse.
“É solitário.”
“Creio que isso seja verdade.”
“Sabe,”ele viveu com Doris por mais de trinta anos e de repente ficou solteiro de novo. Não tem a menor ideia do que fazer.”
“E nunca lidou com a separação. Deixou de lado. Está lá, pronta para explodir, detonada por algo completamente alheio ao fato.” “Isso me preocupa. Fico imaginando o que poderia ser esse algo.”
“Ele sente falta dela. Creio que ainda a ama”, disse-lhe. A hora tardia e o álcool fizeram com que sentisse pena de Marino. Dificilmente conseguia ficar com raiva dele por muito tempo.
Wesley ajeitou-se na cadeira. “Creio que seria um dia nota dez. Pelo menos para mim.”
“Ser abandonado por Connie?” Olhei para ele.
“Perder alguém a quem se ama. Perder um filho. Não ter intimidade.” Ele olhou para a frente, e o luar suave iluminou seu perfil elegante. “Talvez esteja tentando me enganar, mas creio que posso aguentar qualquer coisa, desde que haja um final, uma solução que permita a libertação do passado.”
“Nunca nos libertamos do passado.”
“Completamente, acho que não.” Ele continuou a olhar para a frente, enquanto dizia: “Marino não consegue lidar direito com os sentimentos em relação a você, Kay. Creio que gosta de você, mas não admite”.
“Melhor assim.”
“Você soa muito fria.”
“Não sou indiferente a ele”, falei. “Só não quero que ele se sinta rejeitado.”
“O que a faz pensar que ele já não se sente assim?”
“Não estou achando que ele não se sinta rejeitado.” Suspirei. “Na verdade, tenho quase certeza de que ele está muito frustrado, no momento.”
“Na verdade, ciumento é a palavra que me vem à mente.”
“De você.”
“Ele alguma vez tentou convidá-la para sair?”, Wesley prosseguiu, como se não tivesse ouvido o que eu havia acabado de dizer.
“Ele me levou ao baile da polícia.”
“Hum. Isso é muito sério.”
“Benton, não vamos brincar com isso.”
“Não estava brincando”, ele disse, gentilmente. “Sabe, compreendo os sentimentos dele, e muito bem.”
“Eu também.” Wesley pôs o copo no chão.
“Acho melhor entrar e tentar dormir pelo menos algumas horas”, falei, sem me mexer.
Ele se debruçou, tocando-me o pulso com a mão boa. Senti os dedos frios, de segurar o copo. “Whit vai decolar comigo, quando o sol nascer.”
Queria pegar a mão dele. Acariciar seu rosto.
“Lamento ter de deixá-la.”
“Só preciso de um carro”, disse-lhe, sentindo o coração disparar.
“Será que se pode alugar um, por aqui? No aeroporto, talvez?”
“Não admira que seja agente do FBI. Sempre consegue dar um jeito nas coisas.” Seus dedos escorregaram pela minha mão e ele me acariciou com o polegar. Sempre soubera que nossos caminhos, um dia, levariam a isso. Quando ele me convidou para prestar consultoria em Quantico, pressenti o perigo. Poderia ter dito não.
“Está doendo muito?”, perguntei.
“Vai doer de manhã, porque estarei de ressaca.”
“Já é de manhã.” Recostei e fechei os olhos, enquanto ele tocava meu cabelo. Senti seu rosto mais próximo, quando passou a mão no meu pescoço e depois nos lábios. Ele me tocava como se havia muito desejasse fazer isso, e a escuridão tomou conta de tudo, vinda das profundezas de minha mente. A luz dançava no meu sangue. Nossos beijos eram ardentes como o fogo. Sabia que cometeria o pecado sem nome, para o qual não havia perdão, mas não me importava.
Deixamos as roupas no chão, onde as tiramos, e fomos para a cama. Fui cuidadosa com seus ferimentos, mas não permitimos que eles nos atrapalhassem. Fizemos amor até amanhecer e vimos a aurora surgir no horizonte. Depois, sentei-me na varanda para ver o sol nascer entre as montanhas, colorindo as folhas. Imaginei seu helicóptero subindo e girando como um bailarino em pleno ar.
6
No centro da cidade, na frente de um posto Exxon, ficava a concessionária Chevrolet de Black Mountain, onde o policial Baird deixou Marino e a mim às sete e quarenta e cinco da manhã.
Pelo jeito a polícia local espalhara, entre os comerciantes, que os “federais” haviam chegado e estavam hospedados “incógnitos” no Travel-Eze. Embora eu não me sentisse exatamente uma celebridade, deixei para trás o anonimato, ao sair dirigindo um Caprice prateado zero quilômetro sob as vistas de todos os funcionários da loja, aglomerados na porta.
“Ouvi um sujeito chamá-la de Quincy”, Marino disse, abrindo um pacote de biscoito Hardee sabor carne.
“Já fui chamada de coisas piores. Tem ideia de quanto sódio e gordura está ingerindo neste instante?”
“Sim. Cerca de um terço do que pretendo ingerir. Tenho três pacotes de biscoito e pretendo comer todos eles. Caso sofra de falta de memória, gostaria de informar que ontem à noite eu não jantei.”
“Não precisa bancar o grosso.”
“Quando fico sem comer e sem dormir, viro um bicho.” Resolvi não contar que dormira menos do que Marino, mas suspeitei que ele já soubesse disso. Recusava-se a me encarar naquela manhã, e notei que estava muito deprimido, além de irritado.
“Não consegui dormir nada”, ele disse. “Aquela espelunca não tem isolamento acústico.”
Baixei o para-sol, como se ele pudesse aliviar meu desconforto, e liguei o rádio, mudando de estação até encontrar uma emissora que tocava Bonnie Raitt. O carro alugado por Marino ia ser equipado com rádio e scanner. Só ficaria pronto no final da tarde. Eu deveria deixá-lo na casa de Denesa Steiner. Depois alguém o apanharia lá. Enquanto eu dirigia, ele comia e indicava o caminho.
“Diminua a marcha”, disse, consultando o mapa. “A rua à esquerda deve ser a Laurel. Certo. Você precisa entrar à direita, na próxima.” Assim que viramos, encontramos o lago, bem na nossa frente. Não era maior do que um campo de futebol, e cor de musgo. As áreas de piquenique e quadras de tênis estavam desertas; pelo jeito a sede do clube, em bom estado de conservação, não estava sendo usada no momento. Uma fileira de árvores, começando a amarelar por causa do outono, acompanhava a margem. Imaginei a menina com o violão na mão, voltando para casa, ao cair da tarde, entre as longas sombras. Imaginei o senhor idoso pescando, numa manhã como aquela, e seu choque ao encontrar o cadáver no mato.
“Quero passar aqui mais tarde, para dar uma espiada”, falei.
“Vire ali”, Marino disse. “A casa fica na próxima esquina.”
“Onde Emily foi enterrada?”
“A cerca de três quilômetros daqui, naquela direção.” Ele apontou para o leste. “No cemitério da igreja.”
“Da mesma igreja que ela frequentava?”
“Presbiteriana. Se considerar o lago uma espécie de Washington Mall, então a igreja fica numa ponta e a casa de Steiner na outra, a cerca de três quilômetros.”
Reconheci a casa interiorana por causa das fotos que vira em Quantico, na manhã do dia anterior. Parecia menor, como muitas construções que se veem primeiro em foto e depois ao vivo. Situada numa elevação recuada da rua, era rodeada de vegetação, como rododendros, loureiros, torgas e pinheiros.
A calçada de cascalho e a varanda haviam sido varridas recentemente; havia sacos cheios de folhas na beira do acesso. Denesa Steiner possuía um seda Infiniti, novo e caro, o que me surpreendeu. Vi seu braço de relance, coberto por uma manga preta e longa, segurando a porta de tela para que Marino entrasse, quando partia.
O necrotério do Asheville Memorial Hospital não era muito diferente de outros que eu já vira. Ficava no andar de baixo e não passava de uma sala pequena, revestida de azulejos e aço inoxidável, com uma única mesa para autópsias, que o doutor Jenrette mantinha próxima à pia. Realizava uma incisão em Y no corpo de Ferguson, quando cheguei, pouco depois das nove. Quando o sangue entrou em contato com o ar, senti o odor enjoativo e adocicado do álcool.
“Bom dia, doutora Scarpetta”, Jenrette disse, e parecia contente em me ver. “Aventais e luvas ficam naquele armário.” Agradeci, embora não fosse precisar deles, pois o jovem médico não precisaria de mim. Esperava que a autópsia não revelasse nada e, ao olhar para Ferguson de perto, recebi a primeira confirmação. As marcas vermelhas que vira na véspera haviam desaparecido; não encontraríamos sinais de violência nos tecidos e músculos. Enquanto observava o trabalho de Jenrette, recordei-me humildemente de que o legista não substitui o investigador. Na verdade, se não tivéssemos conhecimento das circunstâncias, não saberíamos a causa da morte de Ferguson, só que não morrera por tiro, facada ou espancamento, nem por causa de alguma doença.
“Creio que notou o perfume nas meias que estavam dentro do sutiã”, disse Jenrette, enquanto trabalhava. “Será que você encontrou algo que revelasse a origem, como um frasco de perfume ou água de colônia?” Ele ergueu as vísceras. O fígado de Ferguson mostrava um ligeiro excesso de gordura.
“Não encontramos nada do gênero”, respondi. “Devo dizer que fragrâncias normalmente são encontradas em situações nas quais há mais de uma pessoa envolvida.” Jenrette ergueu os olhos.
“Por quê?”
“Se você está sozinho, qual a graça?”
“Acho que faz sentido.” Ele esvaziou o conteúdo do estômago numa caixa. “Apenas um pouco de líquido marrom”, disse. “E talvez algumas partículas de nozes ou similar.
Disse que ele havia voltado para Asheville de avião, pouco antes de ser encontrado, não foi?”
“Isso mesmo.”
“Provavelmente comeu amendoim no avião. E bebeu. O nível alcoólico é de um ponto quatro.”
“Creio que bebeu em casa também”, disse-lhe, lembrando do copo de bourbon ao lado da cama.
“Bem, quando você menciona a presença de outra pessoa, numa situação assim, acha que seria homossexual ou hetero?”
“Em geral, homo”, falei. “Mas o material pornográfico não confirma.”
“Ele estava olhando mulheres nuas.”
“As revistas encontradas ao lado do corpo exibiam fotos de mulheres nuas”, corrigi, pois não havia como saber o que Ferguson estava olhando. Sabíamos apenas o que fora encontrado. “Também vale notar que não havia outras publicações pornográficas, nem equipamentos sexuais na casa dele”, acrescentei.
“Acredito que deveria haver mais”, Jenrette disse, pegando a serra de Stryker.
“Normalmente, este tipo de sujeito guarda um baú cheio”, disse. “Nunca jogam nada fora. Francamente, estou intrigada por encontrarmos apenas quatro revistas, e todas elas atuais.”
“Parece que era novato na história.”
“Muitos fatores sugerem sua inexperiência”, concordei. “Mas, no geral, o que estamos vendo não parece muito coerente.”
“Por exemplo?” Ele passou o bisturi atrás da orelha, cortando para descobrir o crânio. De repente, o rosto tornou-se uma máscara triste, frouxa.
“Por exemplo, não encontramos o frasco do perfume que ele usava e nenhuma lingerie feminina na casa, exceto a que ele estava vestindo”, falei. “Só faltava uma camisinha na caixa. A corda era velha, e não encontramos nada, nem outra corda, que indicasse um hábito. Ele tomou o cuidado de enrolar uma toalha no pescoço, e no entanto deu um nó extremamente perigoso.”
“Como o nome indica”, Jenrette comentou.
“Exatamente. O nó de forca aperta com facilidade e não desata mais”, falei. “Não é bem o que alguém escolha usar quando está embriagado e empoleirado num banquinho envernizado, muito mais instável que uma cadeira, por exemplo.”
“Duvido que muita gente saiba dar um nó de forca”, Jenrette disse.
“Nossa questão é: Ferguson tinha motivos para saber?”
“Acho que ele poderia ter se guiado por um livro.”
“Não encontramos na casa nenhum livro sobre nós, nem publicações náuticas ou algo do tipo.”
“É muito difícil dar um nó de forca? Se a pessoa tiver as instruções, digo.”
“Não seria impossível, mas requer uma certa prática.”
“E por que alguém se interessaria num nó assim? Não seria mais fácil dar um laço?”
“Um nó de forca é terrível, mórbido. É perfeito, preciso. Não sei”, acrescentei. “Como está o tenente Mote?”
“Estável, mas vai passar um tempo na terapia intensiva.” O Dr. Jenrette ligou a serra de Stryker. Permanecemos em silêncio, enquanto ele removia a parte superior do crânio. Só falamos depois que ele retirou o cérebro e estava examinando o pescoço.
“Sabe, não vejo nada. Nenhuma hemorragia nos músculos tensores, o hioide está intacto, não há fraturas nas trompas superiores da cartilagem da tiroide, nem na espinha. Bem, suponho que isto só ocorra nos enforcamentos legais.”
“Exceto se a pessoa for obesa, com alterações na vértebra cervical provocadas por artrite, e seja acidentalmente suspensa, de modo inusitado”, falei.
“Quer dar uma espiada?” Calcei as luvas e aproximei-me.
“Dra. Scarpetta, como sabemos se ele estava vivo, quando foi enforcado?”
“Não podemos afirmar, com certeza”, falei. “A não ser que encontremos outra causa para a morte.”
“Envenenamento, por exemplo.”
“Trata-se, praticamente, da única possibilidade que me ocorre a esta altura. Mas, se foi este o caso, o veneno agiu muito depressa. Sabemos que ele estava em casa havia pouco tempo, quando Mote encontrou o corpo. Portanto, as probabilidades não favorecem nada de bizarro e apontam para morte causada por asfixia, devido ao estrangulamento.”
“E quanto ao modo?”
“Suspensão”, sugeri.
Depois que os órgãos de Ferguson foram seccionados e devolvidos à cavidade abdominal num saco plástico, ajudei Jenrette na faxina. Lavamos a mesa e o chão com a mangueira, enquanto o assistente do necrotério transportava o corpo de Ferguson para a geladeira. Lavamos seringas e instrumentos, conversando descontraidamente sobre o que andava acontecendo no setor da medicina que atraíra o jovem médico, inicialmente, por ser seguro.
Ele contou que sonhava em constituir família num lugar onde as pessoas ainda acreditassem em Deus e no caráter sagrado da vida. Ele queria ver os filhos na igreja e na pista de atletismo. Longe de drogas, imoralidade e violência da televisão.
“Infelizmente, doutora Scarpetta, não sobrou nenhum lugar assim. Nem aqui estamos seguros. Na semana passada fiz a autópsia de uma menina negra, violentada e assassinada. Agora, temos um investigador do Departamento Estadual de Investigações vestido como drag queen. Há um mês, foi um rapaz de Oteen. Overdose de cocaína. Isso, sem falar nos motoristas embriagados. Eles e suas vítimas são os mais comuns.”
“Dr. Jenrette?”
“Pode me chamar de Jim”, ele disse, e parecia deprimido, recolhendo a papelada em cima da escrivaninha.
“Qual a idade de seus filhos?”, perguntei.
“Bem, minha esposa e eu estamos tentando...” Ele limpou a garganta e desviou a vista, mas não a tempo de impedir que eu percebesse seu sofrimento.
“E quanto a você? Tem filhos?”
“Sou divorciada, mas tenho uma sobrinha que é como se fosse minha filha”, falei. “Cursando a UVA, além de estagiar em Quantico.”
“Deve se orgulhar dela.”
“Muito”, retruquei, e senti a sombra penosa das vozes e imagens que ecoavam e refletiam meus temores ocultos sobre a vida de Lucy.
“Bem, sei que deseja conversar mais a respeito de Emily Steiner. O cérebro dela ainda está aqui, se quiser pode vê-lo.”
“É uma boa ideia.” Alguns patologistas costumam conservar os cérebros numa solução de dez por cento de formaldeído, conhecida como formalina. O processo preserva e firma os tecidos, possibilitando estudos posteriores, principalmente nos casos que envolvem trauma ao mais incrível e desconhecido dos órgãos humanos.
O procedimento é útil, embora deprimente, quase indigno, dependendo do ponto de vista. Jenrette aproximou-se da bancada, e apanhou um balde plástico em cuja etiqueta constava o nome e o número do processo de Emily Steiner. No momento em que Jenrette removeu o cérebro da formalina e o depositou em cima de uma base plástica, sobre a bancada, percebi que o exame geral só revelaria, com mais insistência ainda, que havia algo de muito estranho naquele caso.
“Não há absolutamente nenhuma reação vital”, surpreendi-me, e os vapores da formalina arderam nos olhos. Jenrette inseriu uma tenta no orifício do projétil. “Não há hemorragia, nem inchaço. Contudo, a bala não passou pela ponte. Não atravessou o gânglio basal nem qualquer outra área vital.”
Ergui os olhos e o encarei. “Não foi um ferimento imediatamente letal.”
“Não contestaria essa afirmação.”
“Precisamos procurar outra causa para a morte.”
“Ainda bem que está dizendo isso, doutora Scarpetta. Já pedi exames toxicológicos. Contudo, se não surgir algo significativo, não tenho nenhuma outra explicação para a morte. Nada, exceto um ferimento de arma de fogo na cabeça.”
“Gostaria de examinar a amostra dos pulmões”, falei.
“Vamos até minha sala.” Pensei que a garota poderia ter morrido afogada. Momentos depois, sentada na frente do microscópio de Jenrette, examinando um corte do tecido pulmonar, percebi que as perguntas continuavam sem resposta.
“Se ela tivesse morrido afogada”, expliquei, enquanto trabalhava, “os alvéolos estariam dilatados. Deveria haver fluido de edema nas cavidades alveolares, com alteração autolítica desproporcional no epitélio respiratório.” Reajustei o foco. “Em outras palavras, os pulmões deveriam estar contaminados por água fresca e, portanto, em decomposição mais acelerada do que outros tecidos. Mas isso não ocorreu.”
“E quanto a sufocamento, ou estrangulamento?”, ele perguntou.
“O hioide estava intacto. Não há hemorragias petequiais.”
“Concordo.”
“E, o que é mais importante”, ressaltei, “uma pessoa, quando é estrangulada, costuma lutar furiosamente. Não encontramos, porém, ferimentos no nariz nem nos lábios, nem marcas de luta, em qualquer parte do corpo.” Ele me passou uma pasta volumosa. “Isso é tudo que tenho”, disse.
Enquanto ele ditava o caso de Ferguson, reli todos os relatórios, análises laboratoriais e registros referentes ao assassinato de Emily Steiner. A mãe, Denesa, telefonava para o departamento do Dr. Jenrette de uma a cinco vezes por dia, desde que o cadáver de Emily fora encontrado. Achei aquilo muito curioso.
“A vítima foi recebida num saco plástico preto lacrado pela polícia de Black Mountain. O número do selo é 445337, e o selo está intacto...”
“Doutor Jenrette?”, interrompi.
Ele tirou o pé do pedal da máquina de ditar. “Pode me chamar de Jim”, repetiu.
“Parece que a mãe costuma ligar com exagerada frequência.”
“Ela também retornou algumas ligações nossas. Concordo, porém.” Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. “Ela liga muito.”
“Por quê?”
“Principalmente porque está muito abalada, doutora Scarpetta. Ela quer ter certeza de que a filha não sofreu.”
“E o que disse a ela?”
“Disse que provavelmente não sofreu nada, com um tiro desses. Quero dizer, devia estar inconsciente... Bem, provavelmente estava, quando as outras coisas foram feitas.” Ele parou, por um momento. Nós dois sabíamos que Emily Steiner havia sofrido. Ela passou por momentos de puro terror. A certa altura deve ter percebido que morreria.
“E era só isso?”, perguntei.
“Ela ligou tantas vezes para perguntar se a filha havia sofrido?”
“Bem, não. Perguntou outras coisas, pediu informações. Nada particularmente relevante.” Ele sorriu, melancólico. “Creio que precisava conversar com alguém. É uma boa pessoa, que perdeu todos os entes queridos. Não imagina quanta pena sinto dela, nem o quanto rezo para que o monstro terrível que fez isso seja preso. O tal Gault, de quem tanto falam. Não haverá segurança no mundo, enquanto ele não for preso.”
“Nunca haverá segurança no mundo, doutor Jenrette. Mas saiba que queremos muito pegá-lo. Pegar Gault. E qualquer pessoa capaz de fazer este tipo de coisa”, disse-lhe, abrindo um envelope grosso, com fotos brilhantes, no formato vinte por vinte e cinco. Uma delas era desconhecida, e estudei-a atentamente por algum tempo, enquanto o Dr. Jenrette prosseguia, com sua voz monocórdia. Não sabia o que estava vendo, pois jamais examinara algo do gênero; minha reação emocional combinava excitação e medo. A foto mostrava a nádega esquerda de Emily Steiner, na qual havia uma mancha marrom irregular, do tamanho de uma tampinha de garrafa.
“A pleura visceral mostra petéquias espalhadas ao longo das fissuras interlobais...”
“O que é isso?”, interrompi novamente o ditado do Dr. Jenrette.
Ele deixou o microfone de lado, quando me aproximei de sua mesa e mostrei-lhe a foto. Apontei para a marca na pele de Emily, sentindo a fragrância de Old Spice, e pensei em meu ex-marido, Tony, que sempre exagerava naquele perfume.
“Esta marca na nádega não consta de seu relatório”, acrescentei.
“Não sei o que é”, ele disse, sem se colocar na defensiva. “Presumi que se tratava de um efeito post-mortem, provocado por algum artefato.”
“Não conheço nenhum artefato com esta aparência. Fez uma ressecção disso?”
“Não.”
“O corpo ficou em cima de alguma coisa que deixou esta marca.” Retornei à poltrona, sentei-me e debrucei-me sobre a mesa. “Pode ser importante.”
“Sim, se for este o caso, posso compreender sua importância”, ele disse, mostrando-se um tanto constrangido.
“Ela não está enterrada há muito tempo”, falei, baixinho, porém com intensidade.
Ele me encarou, inquieto.
“Sua condição só vai piorar, a cada momento”, prossegui. “Creio que precisamos dar outra olhada nisso.” Ele não piscou, apenas umedeceu os lábios.
“Doutor Jenrette”, falei, “vamos exumar o corpo agora.” O Dr. Jenrette consultou os cartões em seu arquivo Rolodex e ergueu o telefone. Observei-o, enquanto discava.
“Alô? Aqui é o doutor Jenrette”, disse a quem atendeu. “O juiz Begley está?” O meritíssimo juiz Hal Begley concordou em nos receber dentro de meia hora, em sua sala. Eu ia ao volante, e Jenrette mostrava o caminho. Estacionei na rua College bem antes da hora marcada.
O fórum da comarca de Buncombe era um prédio de tijolos antigo e escuro. Provavelmente, suspeitei, o edifício mais alto da cidade até poucos anos antes. Os treze andares terminavam no xadrez; ao ver as janelas gradeadas contra o céu azul, pensei na cadeia de Richmond, sempre superlotada, ocupando uma área imensa. Lá, a única vista era o arame farpado. Pensei que não tardaria muito e cidades como Asheville precisariam de mais celas, conforme a violência se tornasse tão assustadoramente comum.
“O juiz Begley tem fama de impaciente”, o Dr. Jenrette avisou, subindo a escada de mármore do fórum antigo. “Duvido que vá gostar de seu plano.” Sabia que o Dr. Jenrette tampouco apreciava meu plano, pois nenhum legista aprova que um colega desenterre seu trabalho. O Dr. Jenrette e eu sabíamos o que estava implícito nisso tudo: falhas em sua conduta.
“Entenda”, falei, enquanto percorríamos um corredor do terceiro andar, “eu também não gosto do meu plano. Odeio exumações. Gostaria que houvesse um outro jeito.”
“Desejaria ter mais experiência em casos assim, que você vê todos os dias.”
“Não vejo casos assim todos os dias”, falei, comovida com sua humildade. “Graças a Deus.”
“Bem, estaria mentindo se dissesse que não foi duro para mim, quando me convocaram para a cena do crime daquela pobre menina. Talvez devesse ter passado mais tempo por lá.”
“Acredito que a comarca de Buncombe tem muita sorte de contar com você”, disse, com sinceridade, ao abrir a porta externa da sala do juiz. “Gostaria de poder encontrar profissionais como você na Virgínia. Eu o contrataria.” Ele sabia que eu falava a sério, e sorriu. Uma secretária, das mais velhas que eu já vira em atividade, nos examinou através de óculos de lentes grossas. Ela usava máquina de escrever elétrica, em vez de computador, e presumi, pela fileira de arquivos de aço cinzento, que arquivar era o seu forte. A luz solar penetrava desanimadamente pelas venezianas semicerradas, iluminando a galáxia de poeira do ar. Senti o odor de Leite de Rosas, quando ela despejou um tanto de creme hidratante nas mãos ossudas.
“O juiz Begley os aguarda”, disse antes que nos apresentássemos. “Podem entrar. Por aquela porta.” Ela apontou para uma porta fechada, do outro lado da sala, oposta à porta pela qual havíamos entrado. “É bom que saibam, a sessão foi suspensa para o almoço, e ele deve voltar à uma em ponto.”
“Obrigada”, falei. “Tentaremos não demorar muito.”
“Não faria diferença, se tentassem.” A batida tímida do Dr. Jenrette na pesada porta de carvalho da sala do juiz foi respondida com um “Pode entrar” distraído, do outro lado. Encontramos o meritíssimo atrás de uma mesa, sem paletó, sentado ereto numa velha poltrona de couro vermelho. Era um sujeito magro, barbudo, com quase sessenta anos. Enquanto consultava algumas anotações, descobri algumas coisas a seu respeito.
A mesa organizada revelava que era um sujeito ocupado, eficiente. A gravata fora de moda e o sapato de solado macio indicavam que ele não se importava nem um pouco com a opinião que gente como eu poderia ter a seu respeito.
“Por que querem violar uma sepultura?”, ele perguntou, com sotaque sulista arrastado, que pretendia ocultar sua mente ágil, ao virar a página de seu bloco de anotações.
“Depois de consultar o relatório do doutor Jenrette”, expliquei, “conversei com ele, e concordamos que algumas questões não foram respondidas no exame inicial do corpo de Emily Steiner.”
“Conheço o doutor Jenrette, mas acho que não a conheço”, o juiz Begley disse, colocando o bloco sobre a mesa.
“Sou a doutora Kay Scarpetta, legista-chefe da Virgínia.”
“Disseram que a senhora era ligada ao FBI.”
“É verdade. Sou consultora de patologia forense da Unidade de Apoio a Investigações.”
“Seria algo como a Unidade de Ciência Comportamental?”
“A mesma coisa. O departamento mudou de nome há alguns anos.”
“Então está se referindo ao pessoal que faz perfis psicológicos dos serial killers, um tipo com o qual não precisávamos nos preocupar por aqui, até recentemente.” Ele me observava atentamente, com as mãos cruzadas sobre o colo.
“Fazemos exatamente isso”, falei.
“Meritíssimo”, o Dr. Jenrette disse, “a polícia de Black Mountain pediu o apoio do FBI. Existe a possibilidade de que o homem que matou a menina dos Steiner tenha sido o assassino de várias pessoas na Virgínia.”
“Sei disso, doutor Jenrette, uma vez que teve a gentileza de me explicar tudo quando telefonou. No entanto, o único item importante, no momento, é sua pretensão de obter uma ordem para exumar o corpo da pobre menina. Antes que eu permita a realização de um ato constrangedor e desrespeitoso como esse, vocês precisarão dar um motivo muito forte. Gostaria muito que vocês dois sentassem e ficassem à vontade. Para isso temos poltronas do lado oposto de minha mesa.”
“Ela tem uma marca na pele”, disse, ao sentar.
“Que tipo de marca?” Ele me olhava, interessado, enquanto o Dr. Jenrette retirava a fotografia do envelope e a colocava sobre o borrador que havia em cima da mesa do juiz.
“Pode vê-la nesta foto”, Jenrette disse.
Os olhos do juiz baixaram até a foto, e sua fisionomia era inescrutável.
“Não sabemos qual é o tipo de marca”, expliquei. “Mas pode nos revelar onde o corpo esteve. Pode ter sido consequência de algum tipo de ferimento.” Ele ergueu a fotografia, semicerrando os olhos ao examiná-la de perto. “Não podem trabalhar a partir da fotografia? Soube que a polícia científica consegue coisas incríveis hoje em dia.”
“É verdade”, respondi. “Mas temos um problema. Quando terminarmos as análises, o corpo pode estar tão decomposto que impedirá qualquer exame, caso ainda seja necessário exumá-lo. Quanto mais esperarmos, mais difícil será distinguir ferimentos ou outros sinais importantes no corpo, devido à decomposição.”
“Há muitos detalhes que tornam este caso realmente incomum, meritíssimo”, o Dr. Jenrette disse. “Precisamos de todos os elementos possíveis.”
“Soube que um agente estadual que trabalhava no caso foi encontrado ontem, enforcado. Vi no jornal desta manhã.”
“Sim, senhor”, o Dr. Jenrette disse.
“Há detalhes incomuns na morte dele, também?”
“Sem dúvida”, respondi.
“Espero que não voltem aqui na semana que vem, pedindo a exumação do corpo dele.”
“Não vejo necessidade”, falei.
“A menina tem mãe. O que acha que ela vai sentir a respeito dessa ideia de vocês?” Nem o Dr. Jenrette nem eu respondemos. O couro rangeu, quando o juiz se ajeitou na poltrona. Ele olhou através de nós, para o relógio na parede.
“Bem, meu maior problema em relação ao pedido”, ele prosseguiu, “é a situação da pobre mulher, depois de tudo que já passou. Não tenho a menor intenção de provocar mais sofrimento.”
“Não pediríamos isso se não fosse importante para a investigação da morte da filha dela”, falei. “Sei que a senhora Steiner deseja justiça, meritíssimo.”
“Falem com a mãe, e tragam-na até aqui”, o juiz Begley disse, levantando-se da poltrona.
“Como?”, o Dr. Jenrette disse, atônito.
“Quero ver a mãe da menina”, o juiz repetiu. “Devo estar livre às duas e meia. Espero que voltem com ela.”
“E se ela não quiser vir?”, o Dr. Jenrette perguntou, enquanto nos levantávamos.
“Não poderei culpá-la. Nem um pouco.”
“Não precisa da permissão dela”, falei, com uma calma que não sentia.
“Não, minha senhora, eu não preciso”, o juiz disse, abrindo a porta.
7
O Dr. Jenrette foi muito gentil, permitindo que eu usasse sua sala, e desapareceu no laboratório do hospital. Passei as horas seguintes ao telefone.
A missão mais importante, ironicamente, acabou sendo a mais fácil. Marino não encontrou dificuldade em convencer Denesa Steiner a acompanhá-lo até a sala do juiz, naquela tarde. Foi mais difícil dar um jeito de transportá-los ao fórum, pois Marino continuava sem carro.
“Qual é o problema?”, perguntei.
“A droga do scanner que eles instalaram não funciona”, ele disse, irritado.
“Você não pode se virar sem isso?”
“Eles acham que não.” Consultei o relógio. “Acho melhor então que eu vá buscá-lo.”
“Bem, eu posso dar um jeito sozinho. Ela tem um carro bem legal. Sabe, tem gente que acha o Infiniti melhor do que o Mercedes.”
“Isso é discutível. De todo modo, no momento estou com um Chevrolet.”
“Ela disse que o sogro tinha um Mercedes parecido com o seu. Por que não o troca por um Infiniti ou um Legend?” Permaneci em silêncio. “Só falei por falar.”
“Venha logo”, ordenei.
“Tudo bem.”
“Ótimo.” Desligamos sem despedidas; senti-me exausta e traída, ali sentada, na frente da mesa do Dr. Jenrette. Apoiara Marino na época das dificuldades com Doris. Fiquei ao lado dele quando começou a se aventurar no mundo rápido e assustador dos encontros casuais. Em troca, ele só criticava minha vida pessoal, sem que eu o solicitasse.
Ele falava mal do meu ex-marido e criticava Mark, meu ex-amante, de modo ferino. Raramente dizia algo gentil a respeito de Lucy ou da maneira como eu lidava com ela. Não gostava dos meus amigos. No momento, mantinha os olhos fixos em meu relacionamento com Wesley. Eu sentia o peso do ciúme furioso de Marino.
Ele não estava na sala de Begley quando o Dr. Jenrette e eu retornamos, às duas e meia. Conforme os minutos iam passando na sala do juiz, minha raiva aumentava.
“Diga-me, doutora Scarpetta, onde nasceu?”, o juiz perguntou, do outro lado de sua mesa imaculada.
“Em Miami”, respondi.
“Mas não tem um pingo de sotaque sulista. Juraria que era do Norte.”
“Fui educada no Norte.”
“Talvez se surpreenda em saber que eu também fui”, ele disse.
“E por que veio morar aqui?”, o Dr. Jenrette perguntou.
“Com certeza, pelas mesmas razões que você.”
“Mas o senhor é daqui”, falei.
“A família vive aqui há três gerações. Meu bisavô nasceu num chalé de troncos na região. Era professor. Isso pelo lado de minha mãe. A família de meu pai destilava bebidas clandestinamente até a metade deste século. Depois eles viraram pregadores. Acho que eles chegaram.” Marino abriu a porta, e seu rosto entrou antes do corpo. Denesa Steiner veio atrás dele e, embora não se possa acusar Marino de cavalheirismo, ele se mostrava inusitadamente atencioso e gentil com aquela mulher dotada de força peculiar, cuja filha morta era o motivo de nossa reunião. O juiz levantou-se e eu também, por força do hábito, enquanto a Sra. Steiner nos olhava com tristeza tingida de curiosidade.
“Sou a doutora Scarpetta”, falei ao estender a mão para apertar a dela, macia e fria. “Lamento muito tudo isso, senhora Steiner.” “Sou o doutor Jenrette. Falamos pelo telefone.”
“Por favor, sente-se”, o juiz disse, muito gentil.
Marino aproximou duas cadeiras, acomodando-a em uma antes de ocupar a outra. A Sra. Steiner tinha trinta e tantos anos e usava roupa preta. Saia larga, blusa abotoada até o queixo. Não usava maquiagem e a única joia era uma aliança de casamento lisa, de ouro. Parecia uma missionária solteirona, embora eu percebesse, ao estudá-la, coisas que sua pose de puritana não conseguia ocultar por muito tempo.
Para começar, era linda. Pele macia, clara. Boca generosa e cabelo encaracolado cor de mel. O nariz afilado se destacava entre as maçãs altas do rosto e, sob as dobras da roupa horrível, escondia-se um corpo voluptuoso, bem torneado. Sua tentativa tampouco enganou homem algum naquela sala. Marino, principalmente, não conseguia tirar os olhos dela.
“Senhora Steiner”, o juiz iniciou, “o motivo pelo qual solicitei sua vinda aqui esta tarde é um pedido feito por estes médicos. Gostaria que o escutasse. E agradeço a gentileza de seu comparecimento. Por tudo que sei, a senhora só demonstrou coragem e decência durante este período de sofrimento indescritível. Não pretendo, nem de longe, tornar seu fardo mais pesado.”
“Obrigada, senhor”, ela disse em voz baixa, cruzando as mãos pálidas sobre o colo, com força.
“Bem, os legistas notaram algumas coisas nas fotografias tiradas após a morte de Emily. Coisas misteriosas que os levaram a querer examiná-la novamente.”
“E como poderiam?”, perguntou ingenuamente com sua voz doce e firme, cujo sotaque não combinava com a Carolina do Norte.
“Bem, eles desejam exumá-la”, o juiz respondeu.
A Sra. Steiner não se mostrou contrariada, e sim surpresa. Meu coração doeu, quando percebi que lutava contra as lágrimas.
“Antes que eu diga sim ou não ao pedido”, Begley prosseguiu, “gostaria de saber como se sente a respeito.”
“Vocês querem tirá-la da cova?” Ela olhou para o Dr. Jenrette, e depois para mim.
“Sim”, respondi. “Precisamos examiná-la novamente, o quanto antes.”
“Não sei que novidades poderiam encontrar agora.” A voz tremeu.
“Talvez nada de importante”, falei. “Mas há certos detalhes que notei nas fotos que merecem uma inspeção mais rigorosa, senhora Steiner. Sinais misteriosos que podem nos ajudar a pegar quem fez aquilo a Emily.”
“Quer nos ajudar a apanhar o desgraçado que matou sua filha?”, o juiz perguntou.
Ela fez que sim, vigorosamente, e começou a chorar. Marino falou, furioso: “Se nos ajudar, juro que pegamos o filho da mãe”.
“Lamento pedir isso”, disse o Dr. Jenrette, que, pelo jeito, passaria o resto da vida convencido de que falhara.
“Então, podemos prosseguir?” Begley debruçou-se como se pretendesse pular. Como todos na sala, sentia o peso da terrível perda para aquela mulher. Sentiu sua vulnerabilidade pavorosa com uma intensidade que, convenci-me, alteraria para sempre o modo como encararia criminosos com desculpas e histórias tristes que caíssem em sua vara.
Denesa Steiner balançou a cabeça, afirmativamente. Não conseguia falar. Marino a ajudou a sair da sala, deixando Jenrette e a mim para trás.
“Vai amanhecer cedo; precisamos planejar tudo”, Begley disse.
“Precisamos coordenar as ações de várias pessoas”, concordei.
“Qual foi a agência funerária encarregada do enterro?”, Begley perguntou a Jenrette.
“A de Wilbur.”
“Fica em Black Mountain?”
“Sim, meritíssimo.”
“O nome do diretor?” O juiz tomava nota de tudo.
“Lucias Ray.”
“E quanto ao investigador encarregado do caso?”
“Está no hospital.”
“Sim, é claro.” O juiz Begley olhou para cima e suspirou.
Eu não sabia direito por que fora direto para lá, talvez só por ter prometido. Estava furiosa com Marino. Irracionalmente ofendida, acima de tudo, pela alusão ao meu Mercedes, que ele tivera a audácia de comparar a um Infiniti, e desfavoravelmente.
Não importava se ele havia feito um comentário certo ou errado, pois pretendia realmente me insultar e irritar. No momento, não solicitaria a companhia de Marino nem que temesse o monstro de Loch Ness, criaturas dos pântanos e mortos-vivos. Teria recusado, se ele se oferecesse, apesar do meu medo das cobras-d'água. A bem da verdade, sentia pavor de qualquer cobra, grande ou pequena.
Ainda restava luz suficiente, quando cheguei ao lago Tomahawk, para refazer os últimos passos de Emily, conforme me haviam relatado. Estacionei na área para piqueniques, acompanhei a margem com os olhos, enquanto tentava entender o motivo que levaria uma garota a andar por ali ao escurecer. Recordei-me do quanto temia os canais de Miami quando era menina. Cada tronco parecia um crocodilo, e pessoas cruéis estariam escondidas nos locais ermos.
Por que Emily não sentira medo? Pensei, ao descer do carro. Talvez houvesse alguma explicação para a escolha daquele trajeto.
O mapa fornecido por Ferguson durante a reunião em Quantico indicava que Emily deixara a igreja no final da tarde de 1° de outubro e se afastara da rua no ponto em que eu me encontrava. Passara pelas mesas de piquenique e dobrara à direita, numa trilha que mais parecia gasta pelos pés dos passantes que desmatada. O caminho, bem definido em alguns trechos, quase sumia em outros, imperceptível, acompanhando a margem por entre arbustos e árvores.
Abri caminho no mato alto, enquanto a sombra das montanhas aumentava na água e o vento crescia, trazendo a promessa fria do inverno. As folhas mortas estalavam sob meus pés. Cheguei à clareira marcada no mapa com a silhueta de um corpo minúsculo. Escurecera.
Ao procurar a lanterna na bolsa, lembrei-me de que ficara no porão de Ferguson, quebrada. Encontrei apenas uma caixa de fósforos pela metade, resquício do meu tempo de fumante.
“Droga”, murmurei entre os dentes, temerosa.
Tirei o 38 da bolsa e o guardei no bolso lateral do casaco; senti que os dedos apertavam a coronha, ao observar o barranco enlameado onde o corpo de Emily Steiner fora descoberto. As sombras, comparadas às fotografias na minha memória, indicavam que o mato em torno havia sido cortado. Não vi outros indícios de atividade recente, pois estavam cobertos pela natureza e pela escuridão da noite. As folhas formavam uma camada grossa. Afastei-as com os pés, para examinar detalhes que a polícia local poderia ter deixado escapar.
Depois de trabalhar em muitos crimes violentos em minha carreira, aprendera algo verdadeiramente importante. A cena de um crime possui vida própria. Ela guarda marcas no solo, efeitos dos fluidos corporais nos insetos, plantas pisoteadas. Perde a privacidade, como ocorre a qualquer testemunha, pois não fica pedra sobre pedra depois. E os curiosos não deixam de ir lá, só porque não há mais perguntas a fazer.
É comum que as pessoas continuem a visitar o local, mesmo quando cessam os motivos para tanto. Querem tirar fotos, recolher suvenires. Deixam cartas, cartões e flores. Aproximam-se em segredo e vão embora do mesmo jeito, pois sentem vergonha de olhar só porque não conseguem controlar seu impulso. Como se violassem algo sagrado, ao deixar até uma rosa. Não encontrei flores ali, ao afastar as folhas. Meus pés, porém, perceberam pequenos objetos duros que me fizeram abaixar, forçando a vista. Depois de cavoucar bastante, recuperei quatro bolas do que parecia ser chiclete, ainda embaladas em plástico. Só ao aproximá-las do fósforo aceso percebi que eram balas duras, ou Fireballs, como Emily as chamara em seu diário. Levantei-me, ofegante.
Furtivamente, olhei em torno, atenta para qualquer som. O ruído de meus pés esmagando as folhas soava terrivelmente alto quando percorri a trilha que naquele momento já não via. Mas vi as estrelas e a meia-lua cuja luz serviu de único guia, pois os fósforos se acabaram. Só sabia, graças ao mapa, que não estava longe da rua dos Steiner, e que seria mais fácil chegar até lá do que tentar retornar ao carro.
Suava, vestida com o casaco, e temia tropeçar. Além de não ter lanterna, eu me esquecera de pegar o telefone celular. Ocorreu-me que não gostaria de ser vista por um colega, estando naquela situação. Se me machucasse, teria de explicar-me com uma mentira.
Em dez minutos desta caminhada pavorosa arruinei a meia-calça, desfiada pelos arbustos que me arranhavam a perna. Tropecei num toco, e enfiei o pé no barro, até o tornozelo. Quando um galho bateu em minha cara, passando perto do olho, parei. Ofegava, frustrada, quase chorando. Entre a rua e o caminho, à direita, só havia mato fechado. Do lado esquerdo, água.
“Merda”, falei em voz alta.
Acompanhar a margem era menos perigoso, e aos poucos fui ganhando confiança e destreza. Os olhos se adaptaram melhor ao luar. Os pés seguiam, guiados pela intuição.
Percebia as mudanças de umidade no solo e na temperatura do ar, ao enveredar por um rumo que me afastava da trilha, em direção a pontos mais secos. Era como se tivesse evoluído até me tornar uma criatura da noite, para garantir a sobrevivência da espécie.
Então, repentinamente, vi as luzes da rua à frente. Chegara ao final do lago, na ponta oposta ao lugar onde estacionara o carro. O mato fora cortado, para dar lugar a quadras de tênis e um estacionamento. Como Emily fizera havia várias semanas, saí da trilha, e segui pela rua calçada. Senti, ao caminhar, que tremia.
Lembrei-me de que a casa dos Steiner era a segunda à esquerda, e ao me aproximar ainda não sabia ao certo o que dizer à mãe de Emily. Não sentia a menor vontade de contar aonde fora, nem os motivos para a caminhada, pois não ajudaria em nada perturbá-la ainda mais. Contudo, não conhecia mais ninguém por ali, e não me via batendo à porta da casa de um estranho, pedindo para usar o telefone.
Por mais hospitaleiras que as pessoas de Black Mountain fossem, iam querer saber a causa daquele meu ar de quem se perdera no meio do mato. Talvez alguém até me considerasse assustadora, especialmente se precisasse explicar que profissão exercia. No final das contas, um cavaleiro inesperado afastou meus temores. Surgido da escuridão, ele quase me atropelou. Aproximei-me da entrada da casa de Steiner justamente quando Marino saía em seu novo Chevrolet azul-noite. Ao acenar na frente dos faróis, notei a expressão ausente em seu rosto, enquanto freava. Seu estado de espírito passou de incredulidade para a raiva.
“Filha da mãe! Você quase me matou do coração. Quase atropelei você.”
Prendi o cinto de segurança e fechei a porta. “O que veio fazer aqui, cacete? Merda!”
“Fico contente em saber que finalmente conseguiu pegar o carro, e que o scanner está funcionando. Preciso de um scotch com urgência, e não tenho ideia de onde se consegue isso, por aqui”, disse, antes que meus dentes começassem a bater. “Como é que a gente liga o aquecimento?” Marino acendeu um cigarro e tive vontade de fumar também. Mas há certas promessas que jamais quebro. Liguei o aquecimento no máximo.
“Minha nossa. Andou fazendo luta livre na lama?”, ele disse. Não me lembro de tê-lo visto tão abalado assim, antes. “Então? O que andou fazendo? Está tudo bem?”
“Meu carro está estacionado perto da sede do clube.”
“Que clube?”
“No lago.”
“No lago? Você andou passeando por lá de noite? Perdeu a cabeça?”
“Perdi a lanterna, e só me lembrei disso quando já era tarde demais.” Enquanto falava, tirei o 38 do bolso e o devolvi à bolsa, num gesto que não passou despercebido a Marino. Seu humor piorou.
“Sabe, não entendo qual é o seu problema, porra. Está deixando que as coisas fujam do controle, perdendo a manha. Talvez seja a menopausa.”
“Se é a menopausa ou qualquer outra questão pessoal, não é da sua conta. E saiba que não pretendo discutir nada disso com você. Entre outros motivos, em função de sua falta de tato tipicamente masculina e de sua sensibilidade de mourão de cerca – que pode ou não ter a ver com seu sexo, devo admitir, para ser justa. Não acredito que todos os homens sejam iguais a você. Se achasse, teria desistido deles completamente.”
“Talvez seja uma boa ideia.”
“Talvez seja mesmo.”
“Ótimo! Assim você fica igual a sua sobrinha rebelde! Sabe, está na cara qual é a jogada dela.”
“Mais uma coisa que não é da sua conta”, disse, furiosa. “Não acredito que você desceu tão baixo, a ponto de estereotipar Lucy, a tratá-la como se não fosse gente, só porque não tem as mesmas preferências que você.”
“Acha mesmo? O problema, na minha opinião, é que ela tem exatamente as mesmas preferências que eu. Gosto de mulher.” “Você não sabe nada a respeito das mulheres”, falei, e me dei conta de que o carro estava um forno, e de que não sabia para onde íamos. Abri a janela e diminuí o aquecimento.
“Sei o suficiente a respeito das mulheres para perceber que você deixa qualquer um maluco. E não acredito que teve a coragem de andar pela beira do lago depois de anoitecer. Sozinha. E se ele também estivesse por lá?”
“Ele quem?”
“Puxa, estou morrendo de fome. Passei por uma churrascaria, na Tunnel Road, quando vim aqui da outra vez. Espero que ainda esteja aberta.”
“Marino, são só quinze para as sete.”
“Por que foi até lá?”, ele perguntou, e nós dois tentamos nos acalmar.
“Alguém deixou cair balas no chão, onde o corpo foi encontrado. Fireballs.” Como ele não reagiu, prossegui: “Do mesmo tipo citado no diário dela”.
“Não me lembro disso.”
“O menino de quem ela gostava. Creio que o nome dele é Wren. Ela escreveu que o vira no almoço da igreja e que ganhara uma Fireball dele. Ela a guardara na caixinha secreta.”
“Eles não acharam nada.”
“Acharam o quê?”
“A tal da caixinha secreta. Denesa tampouco a encontrou. Talvez Wren tenha deixado cair as Fireballs no lago.”
“Precisamos conversar com ele”, falei. “Pelo jeito, você e a senhora Steiner estão desenvolvendo um ótimo relacionamento.”
“Nada disso deveria estar acontecendo a alguém como ela.”
“Nada disso deveria acontecer a qualquer pessoa.”
“Ali tem uma Western Sizzler.”
“Não, obrigada.”
“E que tal a Bonanza?” Ele ligou a seta.
“Nem pensar.” Marino observou a fileira de restaurantes profusamente iluminados na Tunnel Road enquanto fumava outro cigarro. “Doutora, sem querer ofender, você está um saco.”
“Marino, dispenso o preâmbulo do 'sem querer ofender'. Só serve para me avisar que serei ofendida.”
“Sei que tem um Peddler por aqui. Vi nas Páginas Amarelas.”
“E por que estava procurando restaurantes nas Páginas Amarelas?” Fiquei intrigada, pois ele escolhia restaurantes como escolhia comida. Saía sem uma lista e pegava o que fosse fácil, barato e enchesse a barriga.
“Queria saber quais eram as opções da área, caso resolvesse comer bem. E se telefonássemos, para saber como se chega lá?” Apanhei o telefone do carro, pensando em Denesa Steiner, pois não era a mim que Marino planejava levar para jantar naquela noite no Peddler.
“Marino”, falei em voz baixa. “Por favor, tome cuidado.”
“Não comece a falar em carne vermelha outra vez.”
“Não é isso que está me preocupando mais.”
8
O cemitério atrás da Terceira Igreja Presbiteriana era um campo coberto de lápides de granito polido, atrás de uma cerca alambrada escondida pelas árvores.
Quando chegamos, às seis e quinze, a aurora tingia o horizonte e eu podia ver meu hálito. As aranhas do mato haviam estendido suas teias, como toldos de lojas abaixados na hora de iniciar as vendas do dia. Contornei-as, respeitosamente, enquanto caminhava ao lado de Marino sobre a grama molhada, na direção do túmulo de Emily Steiner.
Ela estava enterrada num canto, perto das árvores, onde a grama começava a se misturar lindamente com diversas flores do campo. Um anjinho de mármore marcava a sepultura; para encontrá-lo bastou seguir o ruído das pás cavando o barro. Havia ao lado um caminhão-guincho com o motor ligado e seus faróis iluminavam o serviço de dois senhores já idosos, de macacão. As pás brilhavam, a grama em torno ganhava cor, e senti o cheiro da terra úmida que formava um monte ao pé do túmulo.
Marino acendeu a lanterna, e a silhueta triste do anjinho destacou-se contra a escuridão da madrugada. As asas, voltadas para a frente, fechavam-se numa oração.
O epitáfio, na base, dizia: Não há outra no Mundo... Para mim, foi a única.
“Puxa! Tem alguma ideia do que isso significa?”, Marino disse, perto do meu ouvido.
“Podemos perguntar a ele”, respondi, indicando o sujeito de cabelos brancos e fartos que se aproximava. Seu tamanho era impressionante.
O sobretudo escuro e comprido ondulava na altura do tornozelo, enquanto caminhava, dando a macabra impressão, à distância, de que ele estava alguns centímetros acima do solo. Quando chegou perto, vi que usava lenço Black Watch no pescoço, luvas de couro preto nas mãos enormes e galochas que cobriam os sapatos. Teria mais de dois metros e seu tórax mais parecia um barril.
“Sou Lucias Ray”, disse, apertando entusiasticamente nossas mãos quando nos apresentamos.
“Gostaríamos de saber o significado do epitáfio”, falei.
“A senhora Steiner adorava a filhinha. Foi uma pena.” O dono da funerária falava com sotaque arrastado, mais característico da Geórgia do que da Carolina do Norte.
“Temos um livro inteiro de versos, para que as pessoas escolham o que desejam escrever.”
“E a mãe de Emily escolheu isso no seu livro?”
“A bem da verdade, não. Pelo que me recordo, disse que era de Emily Dickinson.” Os coveiros largaram as pás e já estava claro o bastante para que eu visse seus rostos molhados de suor, sulcados como um campo arado. A corrente retinia, enquanto a desenrolavam do guincho. Um deles entrou na cova. Prendeu a corrente nos ganchos da câmara mortuária de concreto, enquanto Ray nos contava que nenhum velório atraíra tanta gente na região quanto o de Emily Steiner.
“Eles encheram a igreja, o gramado em frente. A fila era tão grande que foram necessárias duas horas até que todos passassem pelo ataúde, para prestar a última homenagem.”
“O caixão estava aberto?”, Marino perguntou, surpreso.
“Não, senhor.” Ray observava os coveiros. “Bem, a senhora Steiner pediu que fosse aberto, mas consegui convencê-la do contrário. Disse que estava abalada, e que futuramente me agradeceria pelo conselho. Bem, o corpo da menina não deixava a menor possibilidade de ser exposto. Conheço muita gente que foi lá apenas para espiar. Claro, sempre aparecem alguns curiosos. Este caso, porém, saiu nos jornais.” O guincho emitiu um som agudo e o motor a diesel começou a resfolegar, puxando a câmara de concreto lentamente do solo. A terra chuviscava, conforme a câmara era erguida e começava a girar no ar. Um dos coveiros a segurou com as mãos, para guiar a descida ao lado da cova.
Quase no momento exato em que a câmara mortuária foi depositada na grama ao lado da cova fomos atacados por equipes de tevê com câmaras ligadas, repórteres e fotógrafos.
Eles enxameavam em volta da ferida aberta no solo e da câmara que parecia sangrar, manchada de terra vermelha.
“Por que estão exumando o corpo de Emily Steiner?”, um deles gritou.
“É verdade que a polícia já tem um suspeito?”, perguntou um outro.
“Doutora Scarpetta? Por que o FBI foi chamado?”
“Doutora Scarpetta?”, uma mulher enfiou o microfone na minha cara, “é verdade que está contestando o laudo do legista da comarca de Buncombe?”
“Por que estão profanando o túmulo da menina?”
Sobrepondo-se à balbúrdia, a voz de Marino se impôs, como se ele tivesse sido ferido. “Caiam fora daqui, porra! Vocês estão interferindo em uma investigação policial! Ouviram bem?” Ele bateu o pé. “Fora daqui, agora mesmo!” Os repórteres pararam, com ar chocado. Ficaram olhando para ele, de boca aberta, enquanto Marino gritava, de rosto vermelho e veias saltadas no pescoço. “Os únicos que estão profanando alguma coisa aqui são vocês, seus filhos da mãe! Se não sumirem daqui imediatamente, vou quebrar as câmeras e a cara idiota de quem ficar na minha frente!”
“Marino”, falei, segurando seu braço. Ele estava duro como ferro, de tão tenso.
“Passei a vida inteira aguentando vocês, seus cretinos! Agora chega! Não aguento mais! Bando de filhos da puta do caralho! Parasitas! Vampiros!”
“Marino!” Puxei-o pelo pulso, sentindo que o medo eletrificava cada nervo de meu corpo. Nunca o vira tão furioso. Meu Deus, pensei. Tomara que ele não atire em ninguém.
Fiquei na frente dele, tentando fazer com que me encarasse, mas seus olhos dançavam alucinados por cima da minha cabeça. “Marino, preste atenção! Eles já estão indo embora. Por favor, acalme-se. Marino, pode deixar. Estão saindo. Todos eles. Está vendo? Já conseguiu o que queria. Estão quase correndo.” Os jornalistas se foram com a mesma rapidez com que haviam surgido, como um bando de saqueadores fantasmas que se materializaram e depois desapareceram na névoa.
Marino olhou para o gramado coberto de lápides em fileiras perfeitas e flores de plástico. O som metálico das correntes batendo tomou conta do ar novamente. Com talhadeira e marreta, os coveiros romperam o selo de alcatrão da câmara e tiraram a tampa de concreto, enquanto Marino corria para as árvores. Fingimos não escutar os gemidos e sons guturais vindos do mato, enquanto ele vomitava.
“Tem aí um frasco do produto que usa para embalsamar?”, perguntei a Lucias Ray, cuja reação às tropas invasoras da mídia e à explosão de Marino fora mais de curiosidade do que de incômodo.
“Acho que sobrou meio frasco do material usado para ela”, respondeu.
“Preciso dele para o controle dos produtos químicos no exame toxicológico”, expliquei.
“É só formaldeído e metanol, com um pouco de óleo de lanolina – produtos mais comuns que caldo de galinha. Bem, usei em baixa concentração, por causa do tamanho dela. Seu amigo investigador não está passando bem”, acrescentou, quando Marino saiu do mato. “Sabe, tem uma gripe brava andando por aí.”
“Acho que o problema dele não é gripe”, falei. “Como os repórteres descobriram que estávamos aqui?”
“Bem, agora você me pegou. Mas, sabe como são as pessoas.” Ele fez uma pausa, para cuspir. “Tem sempre alguém que fala demais.” O caixão de Emily era branco como as flores de cenoura silvestre que cresciam em volta do túmulo, e os coveiros não precisaram do guincho para tirar o ataúde de dentro da câmara e depositá-lo no solo com cuidado. Era pequeno como o corpo que continha. Lucias Ray tirou um rádio do bolso do paletó e falou algo.
“Podem vir agora”, disse.
“Dez-quatro”, respondeu uma voz.
“Nenhum repórter por aí, espero.”
“Foram todos embora.” Um carro funerário preto brilhante surgiu na entrada do cemitério e avançou pela grama desviando miraculosamente das árvores. Um sujeito gordo, usando casaco longo e chapéu arredondado, desceu e abriu a porta traseira. Os coveiros colocaram o caixão lá dentro, enquanto Marino observava de longe, limpando o rosto com o lenço.
“Precisamos conversar.” Aproximei-me para dizer isso, em voz baixa, quando o carro se afastou.
“Não preciso de nada, no momento.” Seu rosto estava pálido.
“Marquei com o doutor Jenrette, no necrotério. Você vai?”
“Não”, ele disse. “Preciso voltar ao Travel-Eze. Vou beber cerveja até vomitar de novo, depois passar para o bourbon. Depois vou ligar para o Wesley e perguntar quando vamos cair fora desta cidade de merda. Sabe de uma coisa? Não tenho outra camisa limpa e acabei de sujar esta. Não tenho nem gravata.”
“Marino, vá descansar um pouco.”
“Vou é vomitar até encher um saco deste tamanho”, disse, erguendo as mãos, um pouco afastadas.
“Tome Advil, beba o máximo de água que puder, coma torradas. Passo por lá quando voltar do hospital. Se Benton ligar, diga a ele que estou com o celular. Ele também pode mandar recado pelo pager.”
“Ele tem os números?”
“Sim”, falei.
Marino me encarou por trás do lenço, enquanto limpava o suor da testa. Vi mágoa em seus olhos, antes que se escondessem novamente atrás de sua muralha.
9
O Dr. Jenrette estava preenchendo formulários no necrotério, quando cheguei, pouco antes das dez. O carro fúnebre já passara por ali. Ele sorriu para mim, nervoso, enquanto eu tirava o casaco e vestia um avental plástico por cima da roupa.
“Tem alguma ideia de como a imprensa descobriu que faríamos a exumação?”, perguntei, desdobrando um traje cirúrgico.
Ele pareceu surpreso. “O que aconteceu?”
“Uma dúzia de repórteres apareceu no cemitério.”
“Uma pena, realmente.”
“Precisamos garantir que isso não se repita”, falei, prendendo o traje nas costas e tentando não perder a paciência. “O que ocorre aqui deve ficar entre as quatro paredes, doutor Jenrette.” Ele não disse nada.
“Sei que sou uma visita, e não poderia culpá-lo se minha presença o contrariasse. Por favor, não pense que sou insensível à situação, ou indiferente à sua autoridade. Pode ter certeza, porém, de que o assassino desta menina acompanha o noticiário. Sempre que ocorre um vazamento de informações, ele fica sabendo de tudo.” O Dr. Jenrette, uma pessoa agradável, não se mostrou nem um pouco ofendido enquanto me ouvia atentamente. “Só estou tentando pensar em quem sabia disso”, ele falou.
“O problema é que muita gente ficou sabendo, a história correu depressa.”
“Bem, vamos fazer o possível para que nada do que acontecer aqui hoje corra depressa”, falei, percebendo que o corpo estava chegando.
Lucias Ray entrou primeiro, tendo bem atrás de si o sujeito de chapéu redondo, que empurrava o caixão branco sobre um suporte com rodas, que usavam na igreja. Eles passaram pela porta e pararam perto da mesa de autópsia. Ray tirou uma pequena manivela de aço do bolso do casaco e a inseriu na pequena abertura existente na ponta do caixão. Em seguida, começou a girá-la, para romper o lacre, como se tentasse dar a partida num Modelo T.
“Acho que já é suficiente”, disse, guardando a manivela no bolso. “Espero que não se importem se eu permanecer por aqui, para conferir meu trabalho. Trata-se de uma oportunidade rara, pois não temos o costume de desenterrar as pessoas, depois que as enterramos.” Começou a abrir a tampa; se o Dr. Jenrette não tivesse posto as mãos em cima e o detido, eu o teria feito.
“Normalmente, não haveria problema algum, Lucias”, disse o Dr. Jenfette. “No entanto, não creio que a presença de qualquer pessoa aqui seja apropriada, na atual situação.”
“Acho que você está exagerando nos cuidados.” O sorriso de Ray era tenso. “Até parece que nunca vi a menina antes. Ora, eu a conheço por dentro e por fora, melhor até do que a mãe.”
“Lucias, gostaria que se retirasse agora, pois a doutora Scarpetta e eu temos muito a fazer.” O Dr. Jenrette mantinha o tom calmo e pausado. “Avisaremos quando tudo terminar.”
“Doutora Scarpetta”, Ray fixou os olhos em mim, “devo dizer que as pessoas me parecem menos amigáveis, desde que os federais chegaram à cidade.”
“Trata-se de uma investigação de homicídio, senhor Ray”, falei. “Acho melhor não levar para o lado pessoal, pois não temos nada contra o senhor.”
“Vamos, Billy Joe”, o dono da funerária disse ao sujeito de chapéu. “Está na hora de comer alguma coisa.” Saíram. O Dr. Jenrette trancou a porta.
“Lamento”, disse ao pôr as luvas. “Lucias é um tanto insistente às vezes. Mas eu o considero um bom sujeito.” Suspeitei que poderíamos descobrir que Emily não havia sido adequadamente embalsamada ou que fora enterrada de modo distinto pelo qual a mãe pagara. Mas, quando Jenrette e eu abrimos o caixão, não vi nada do gênero que me chamasse a atenção. A coberta de cetim branco cobria o corpo, e por cima de tudo vi um pacote branco, com fita rosa. Comecei a tirar fotos.
“Ray mencionou isso?” Passei o pacote para Jenrette.
“Não.” Ele aparentava perplexidade ao examiná-lo.
O odor dos fluidos usados no embalsamamento eram fortes, quando tirei a coberta. Sob ela, encontramos o corpo de Emily Steiner bem preservado, num vestido de mangas compridas e gola fechada de veludo azul-claro. Laços do mesmo tecido enfeitavam as tranças. O mofo esbranquiçado, difuso, típico de corpos exumados, cobria o rosto como se fosse uma máscara, e havia começado nas mãos, que estavam na cintura, segurando um exemplar do Novo Testamento. Usava meias brancas até os joelhos e sapatos de verniz preto. As roupas não pareciam novas.
Tirei mais fotos; em seguida, Jenrette e eu a tiramos do caixão, para colocá-la em cima da mesa de aço inoxidável, onde começamos a despi-la. Sob seus doces trajes de menina ocultava-se o segredo medonho de sua morte, pois quem morre naturalmente não exibe marcas daquele tipo.
Qualquer médico-legista sincero admite que os procedimentos da autópsia são horríveis. Não existe nada parecido com a incisão em Y em qualquer procedimento cirúrgico anterior à morte, pois ela é exatamente o que o nome indica. O bisturi rasga as duas clavículas até o esterno, desce ao longo do torso e termina o corte no púbis, depois de fazer um pequeno desvio em volta do umbigo. A incisão feita de orelha a orelha, por trás da cabeça, antes de serrar o crânio, tampouco é atraente.
Claro, cortes feitos nos mortos não cicatrizam. Podem, no máximo, ser cobertos por golas rendadas e cabelo estrategicamente penteado. Com a maquiagem pesada do serviço funerário e a costura grosseira de alto a baixo, em seu corpinho, Emily parecia uma boneca de trapos despida de suas roupas elegantes, abandonada por uma dona desalmada.
A água tamborilava na pia de metal, enquanto o Dr. Jenrette e eu limpávamos mofo, maquiagem e a massa com pó-de-arroz cor de pele que enchia o ferimento a bala na cabeça e as áreas das coxas, peito e ombros, cuja pele fora removida pelo assassino. Retiramos os olhos das órbitas e as suturas. Nossos olhos lacrimejavam e os narizes escorriam conforme os vapores escapavam do interior do corpo. Os órgãos estavam cobertos de pó para embalsamar, e os lavamos rapidamente. Examinei o pescoço, sem encontrar nada que meu colega já não houvesse documentado. Enfiei uma espátula longa entre os molares, para abrir a boca.
“Não cede”, falei, frustrada. “Precisamos cortar o masseteres. Quero examinar a língua em sua posição anatômica, antes de chegar a ela pela faringe posterior. No entanto, tenho dúvidas. Talvez não seja possível.” O Dr. Jenrette instalou nova lâmina em seu bisturi. “O que procura?”
“Quero saber se ela mordeu a língua.” Minutos depois, descobri que sim.
“Há marcas aqui, na beirada”, mostrei. “Pode medi-las?”
“Têm três por seis milímetros.”
“E as hemorragias chegam a seis milímetros de profundidade. Ao que parece, ela mordeu a língua mais de uma vez. O que acha?” “Tenho a mesma impressão.”
“Portanto, há uma contração associada ao episódio terminal.”
“O ferimento na cabeça poderia ter causado isso”, ele disse, apanhando a câmara.
“Poderia. Mas, nesse caso, por que o cérebro não sobreviveu tempo suficiente para sofrer contrações também?”
“Acho que não temos resposta para a questão.”
“Sim”, falei. “Tudo é muito confuso.” Quando viramos o corpo, concentrei-me no estudo da marca peculiar que nos obrigara àquela atividade deprimente, até a chegada do fotógrafo forense com seu equipamento.
Durante boa parte da tarde batemos rolos e rolos de filme infravermelho, ultravioleta, colorido, altocontraste e preto-e-branco, com filtros variados e lentes especiais.
Em seguida, retirei de minha maleta médica meia dúzia de anéis pretos, feitos de um plástico chamado acrilonitrilo-butadieno-estireno, um dos materiais mais usados na fabricação dos canos de água e esgoto comuns. A cada um ou dois anos eu peço a um dentista forense meu conhecido que serre anéis com um centímetro de espessura e os lixe bem. Felizmente, nem sempre preciso usar esse estranho equipamento que levo na bolsa, pois raras vezes tenho de remover uma marca de mordida humana ou outro sinal do cadáver de uma vítima de assassinato.
Escolhendo o anel de três polegadas de diâmetro, usei a rotuladora de fita para registrar o número do caso de Emily Steiner e fazer as marcas de localização nos dois lados. A pele, como uma tela de pintura, é esticada, e para manter a configuração anatômica exata da marca na nádega esquerda de Emily durante e após a remoção, eu precisava de uma base estável.
“Você tem cola Super Bonder?”, perguntei ao Dr. Jenrette.
“Claro.” Ele me trouxe o tubo.
“Tire fotografias de todas as etapas, por favor”, pedi ao fotógrafo, um japonês magro que não parava quieto um minuto.
Posicionei o anel sobre a marca, fixei-o à pele com a cola e reforcei tudo com suturas. Em seguida, removi o tecido em volta do anel, e coloquei tudo na formalina.
Enquanto fazia isso, tentava descobrir o que a marca significava. Era um círculo irregular, incompleto, cuja descoloração em tons de marrom indicava um padrão qualquer, em minha opinião. No entanto, não sabia o que significava, por mais que examinássemos as fotos Polaroid em diferentes ângulos.
Não pensamos no pacote embrulhado em papel branco, até que o fotógrafo saiu e o Dr. Jenrette e eu avisamos a casa funerária que estávamos prontos para recebê-los novamente.
“E o que fazemos com isso?”, o Dr. Jenrette perguntou.
“Vamos abrir.” Ele estendeu toalhas limpas sobre um carrinho, e colocamos o presente por cima. Após cortar o papel cuidadosamente, com o bisturi, ele expôs uma caixa de tênis de mulher, tamanho seis, já velha. Cortou as diversas camadas de fita adesiva e retirou a tampa.
“Minha nossa”, disse sem fôlego, olhando assombrado para o presente deixado no caixão da menina.
Embrulhado em dois sacos plásticos para congelamento, dentro da caixa, havia um gatinho morto, que não poderia ter mais de alguns meses. Estava duro feito pau, quando o ergui, e as costelas delicadas sobressaíam do corpo magro. Era uma gata preta, com patinhas brancas, sem coleira. Não vi sinais da causa da morte, até levá-la à sala de raios X e examinar os filmes na mesa de luz.
“A coluna vertebral foi fraturada”, falei, sentindo que os pelos da nuca se eriçavam.
O Dr. Jenrette franziu o cenho, ao aproximar-se da mesa de luz. “Ao que parece, a espinha foi afastada de sua posição normal aqui.” Ele tocou o filme com o nó do dedo. “Isso é estranho. Foi lateralmente deslocada? Não creio que algo assim poderia ocorrer se ela fosse atropelada por um carro.”
“Ela não foi atropelada”, falei. “A cabeça foi virada noventa graus, no sentido horário.”
Encontrei Marino comendo um cheeseburger em seu quarto, ao retornar ao Travel-Eze perto das sete da noite. A arma, a carteira e as chaves do carro estavam espalhadas em cima de uma das camas. Ele ocupava a outra. Deixara sapatos e meias jogados pelo chão, como se ele os tivesse tirado andando. Percebi que provavelmente voltara pouco antes de mim. Seus olhos me acompanharam enquanto me aproximei da televisão, para desligá-la.
“Vamos”, disse-lhe. “Precisamos sair.”
A “pura verdade”, segundo Lucias Ray, era que Denesa Steiner pusera o pacote no caixão de Emily. Ele presumira que o presente era uma boneca ou brinquedo favorito.
“Quando ela fez isso?”, Marino perguntou, enquanto atravessávamos o estacionamento do motel.
“Imediatamente antes do enterro”, respondi. “Está com as chaves do carro?”
“Sim.”
“Então dirija.” Minha cabeça doía, por conta das emanações de formalina, falta de comida e de sono.
“Soube alguma coisa de Benton?”, perguntei, com o ar mais casual possível.
“Tem um monte de recados dele para você, na recepção.”
“Fui direto para o seu quarto. E como sabe que há um monte de recados?”
“O recepcionista tentou entregá-los a mim. Concluiu que, de nós dois, eu tinha jeito de médico.”
“Só porque você é homem.” Esfreguei as têmporas.
“Gentileza sua notar isso, minha branca.”
“Marino, gostaria que evitasse expressões racistas, pois sei que não é preconceituoso.”
“Gostou do carro?” Era um Chevrolet Caprice marrom-avermelhado, totalmente equipado. Sirene, luzes coloridas, rádio, telefone, scanner. Tinha até câmera de vídeo e uma Winchester Marine cromada, calibre doze. De repetição, para sete cartuchos, do tipo usado pelo FBI.
“Minha nossa”, falei, incrédula, ao entrar no carro. “Desde quando precisam de armamento pesado em Black Mountain, na Carolina do Norte?”
“Desde agora”, ele respondeu, ligando o motor.
“Você pediu tudo isso?”
“Não.”
“Pode me explicar como uma força policial de dez pessoas consegue ser mais bem equipada que o DEA?”
“Talvez os moradores daqui realmente compreendam o que significa viver em comunidade. Esta cidade tem um problema sério, neste momento. Os comerciantes e cidadãos conscientes da região estão doando o que podem, para ajudar. Como carros, telefones, armas. Um dos guardas me disse que uma senhora idosa ligou esta manhã, querendo saber se os agentes federais que estavam na cidade gostariam de jantar na casa dela no domingo.”
“Nossa, quanta gentileza”, disse, atônita.
“E tem mais, a câmara dos vereadores pensa em ampliar o Departamento de Polícia, e suspeito que isso explica algumas coisas.” “Por exemplo?”
“Black Mountain vai precisar de um novo chefe de polícia.”
“E o que aconteceu com o antigo?”
“Mote era o mais próximo de um chefe que havia aqui.”
“Ainda não compreendo aonde você pretende chegar.”
“Bem, quem sabe eu quero chegar aqui mesmo nesta cidade, doutora. Eles estão procurando um policial experiente, e me tratam como se eu fosse o 007. Não é preciso ser nenhum gênio para entender.”
“Marino, o que anda acontecendo com você, afinal?”, perguntei calmamente.
Ele acendeu um cigarro. “Como é que é? Primeiro, você acha que eu não tenho jeito de médico. Agora, diz que não sirvo para chefe? Creio que, na sua opinião, eu não passo de um vagabundo que ainda fala como se comesse espaguete com a máfia emjersey, e que só sai com mulheres de blusa agarrada e cabelo eriçado.” Ele soltou a fumaça, furioso. “Bem, só porque eu gosto de jogar boliche, não quer dizer que eu seja um machão fascista. E só porque não frequentei as faculdades esnobes que você frequentou, não quer dizer que eu seja um completo idiota.”
“Já acabou?”
“E tem mais”, ele prosseguiu, “por aqui tem muitos lugares ótimos para a gente pescar. Bee Tree e o lago James, por exemplo. Exceto por Montreat e Biltmore, a terra é muito barata. Acho que estou cheio de tiroteios entre bandidos e serial killers cuja manutenção na prisão custa mais do que eu ganho para metê-los na cadeia. Quando os desgraçados ficam na cadeia, bem entendido. E esse quando é o pior de tudo.”
Estávamos estacionados no acesso para a casa dos Steiner havia cinco minutos. Olhei para a casa iluminada, pensando se ela sabia que estávamos ali e qual era o motivo da visita.
“Acabou, agora?”, perguntei.
“Não, ainda não terminei. Só cansei de falar.”
“Para começo de conversa, não frequentei faculdades esnobes...”
“Ah, não? E como classifica a Johns Hopkins e a Georgetown?”
“Marino, quer calar a boca?” Ele olhou pela janela e acendeu outro cigarro.
“Eu era uma menina pobre e fui criada num bairro italiano pobre, como você”, falei. “A diferença é que eu vivia em Miami, e você em Nova Jersey. Nunca me considerei superior a você, nem o chamei de idiota. Na verdade, você pode ser tudo, menos idiota, mesmo que fale errado de propósito e nunca tenha frequentado a ópera. Minha lista de queixas em relação a você se resume a um item. Você é teimoso e, quando fica mal, comporta-se de modo agressivo, intolerável. Em outras palavras, trata os outros como acha que estão tratando você.”
Marino segurou o trinco da porta. “Além de não ter tempo para um sermão agora, não estou nem um pouco interessado.” Ele jogou o cigarro fora e o pisoteou para apagá-lo.
Caminhamos em silêncio até a porta da casa de Denesa Steiner; tive a impressão, quando ela abriu, de que percebera que Marino e eu havíamos discutido. Ele não olhava para mim, era como se eu não existisse. Ela nos levou para a sala, cuja familiaridade me enervou, pois já vira fotos do local. Decorada em estilo country, exibia uma profusão de babados, almofadas fofas, plantas penduradas e macramês. Atrás das portas de vidro havia uma lareira a gás e vários relógios que marcavam a mesma hora. A senhora Steiner assistia a um filme antigo de Bob Hope, na tevê a cabo.
Ela parecia exausta, ao desligar a televisão para se acomodar na cadeira de balanço. “Não tive um dia muito bom”, justificou.
“Bem, Denesa, não poderia ter sido diferente”, Marino disse, sentando-se numa poltrona. Concentrava nela toda a atenção.
“Vieram aqui para me dizer o que encontraram?”, ela perguntou, e deduzi que se referia à exumação.
“Tudo vai depender de uma série de exames”, falei.
“Então não encontraram nada que possa ajudar a pegar aquele homem.” Ela falava num tom de desespero calmo. “Os médicos sempre falam em exames quando não sabem de nada. Descobri isso depois de tudo que passei.”
“Estas coisas levam tempo, senhora Steiner.”
“Sabe”, Marino disse, “lamento muito incomodá-la, Denesa, mas precisamos fazer mais algumas perguntas. A doutora quer saber umas coisas.” Ela me olhou e balançou a cadeira.
“Senhora Steiner, havia um pacote, embrulhado para presente, no caixão de Emily. O dono da funerária disse que pediu a ele para enterrar o pacote junto com sua filha”, falei.
“Ah, estão falando de Meia”, ela disse, casualmente.
“Meia?”, perguntei.
“A gatinha de rua que começou a vir aqui. Acho que faz um mês, por aí. Claro, Emily era muito sensível e começou a lhe dar comida. Adorava aquela gatinha.” Ela sorriu, e as lágrimas escorreram pelo rosto.
“Ela a chamava de Meia, pois era preta, a não ser pelas patinhas totalmente brancas.” Ela estendeu as mãos, esticando os dedos. “Parecia que estava usando meias.”
“E como Meia morreu?”, perguntei.
“Não sei.” Ela tirou o lenço do bolso, e enxugou os olhos. “Encontrei-a na porta de casa, certa manhã. Logo depois que Emily... Achei que a coitadinha tinha morrido de tristeza.” Ela cobriu a boca com o lenço e soluçou.
“Vou pegar alguma coisa para você beber.” Marino levantou-se e saiu da sala.
Sua familiaridade óbvia, tanto com a casa quanto com sua dona, era extremamente incomum, e meu desconforto aumentou.
“Senhora Steiner”, falei com muito tato, ao me inclinar para a frente, no sofá, “a gatinha de Emily não morreu de tristeza. O pescoço dela foi quebrado.” Ela baixou as mãos e respirou fundo, tremendo. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, arregalados, quando se fixaram em mim.
“Como assim?”
“A gatinha teve uma morte violenta.”
“Bem, creio que foi atropelada por um carro. Uma pena. Disse a Emily que poderia ser isso.”
“Ela não foi atropelada.”
“Acha então que um cachorro da vizinhança a pegou?”
“Não”, falei, quando Marino retornava com um cálice que parecia conter vinho branco. “A gatinha foi morta por uma pessoa. Deliberadamente.”
“Como pode afirmar uma coisa dessas com tanta certeza?” O terror tomou conta de seu rosto e as mãos tremiam quando pegou o vinho branco e o colocou sobre a mesa ao lado da cadeira.
“Há evidências físicas que deixam claro que o pescoço do gato foi torcido”, continuei a explicar, com calma. “Sei que lhe é penoso ouvir detalhes deste tipo, senhora Steiner. Mas precisa saber a verdade, para poder nos ajudar a encontrar o responsável.” “Tem alguma ideia de quem poderia ter feito uma coisa dessas com a gatinha de sua filha?”
Marino sentou-se e inclinou o corpo para a frente, apoiando o cotovelo no joelho, como se quisesse demonstrar que ela poderia sentir-se segura, confiar nele.
Ela tentou se recompor, em silêncio. Estendeu o braço para pegar o cálice de vinho e tomou vários goles, trêmula. “Sabe, recebemos vários telefonemas.” Ela tomou fôlego. “Minhas unhas estão azuladas. Estou um caco.” Estendeu a mão. “Não consigo parar quieta. Não durmo. Não sei o que fazer.” E chorou novamente.
“Denesa, fique tranquila”, Marino disse, muito gentil. “Acalme-se, primeiro. Estamos aqui, a seu lado. Quando quiser, fale sobre os telefonemas.” Ela limpou os olhos e prosseguiu. “Em geral, de homens. E de uma mulher. Ela disse que, se minha filha tivesse uma boa mãe, que tomasse conta dela, isso não teria... Mas, um deles, parecia jovem. Um menino, passando trote. Ele disse uma coisa, sabe. Viu Emily andando de bicicleta. Isso foi depois... Então, não era possível. Um outro era mais velho. Falou que ele ainda não tinha acabado.” Ela bebeu mais vinho.
“Que ele ainda não tinha acabado?”, perguntei. “E disse mais alguma coisa?”
“Não me lembro.” Ela fechou os olhos.
“Quando foi isso?”, Marino indagou.
“Pouco depois que a encontraram, no lago.” Ela estendeu a mão para pegar o cálice de vinho, mas o derrubou.
“Pode deixar, cuido disso”, Marino falou, levantando-se abruptamente. “Preciso fumar um cigarro.”
“Sabe o que ele quis dizer?”, perguntei.
“Sei que estava se referindo ao que havia acontecido. A quem fez aquilo a ela. Percebi que estava dizendo que as coisas ruins ainda não tinham acabado. No dia seguinte, creio, encontrei Meia, morta.”
“Capitão, o senhor poderia preparar uma torrada com creme de amendoim ou queijo. Acho que preciso de um pouco de açúcar no sangue”, a Sra. Steiner disse, ignorando o copo tombado e a poça de vinho sobre a mesa, a seu lado.
Ele saiu da sala novamente.
“Quando o homem entrou na casa e levou sua filha”, falei, “ele falou com a senhora?”
“Ele disse que me mataria, se eu não fizesse exatamente o que estava ordenando.”
“Portanto, ouviu a voz dele.” Ela fez que sim, balançando a cadeira, sem tirar os olhos de mim.
“A voz era parecida com a que falou com a senhora pelo telefone?”
“Não sei. Pode ser. Difícil dizer.”
“Senhora Steiner...?”
“Pode me chamar de Denesa.” Seu olhar era intenso.
“O que mais se recorda daquele homem? Do sujeito que entrou em sua casa e a prendeu?”
“Você quer saber se ele pode ser aquele sujeito da Virgínia, que matou o menino...” Não falei nada.
“Eu me lembro de ter visto fotos do menino e da família dele, na revista People. Eu me lembro de ter pensado que devia ser horrível, que não conseguia me imaginar no lugar daquela mãe. Já havia sofrido muito, quando Mary Jo morreu. Pensei que nunca superaria aquilo.”
“Sua filha Mary Jo morreu de Síndrome de Morte Súbita Infantil?” Uma centelha de interesse brilhou sob a dor profunda, como se estivesse impressionada ou curiosa em saber como eu conhecia aquele detalhe.
“Ela morreu na minha cama.
Acordei, e ela estava ao lado de Chuck, morta.”
“Chuck era seu marido?”
“No começo, pensei que ele tivesse rolado para cima dela por acidente, no meio da noite, e sufocado a menina. Mas disseram que não. Foi SIDS.”
“Qual a idade de Mary Jo?”, perguntei.
“Ela mal havia completado um ano.” Seus olhos se encheram de lagrimas.
“Emily já havia nascido?”
“Nasceu um ano depois, e eu sabia que a mesma coisa ia acontecer com ela. Sofria de cólicas, chorava muito. Era tão frágil. E os médicos temiam que sofresse de apneia. Precisava vigiá-la constantemente, quando dormia. Para ter certeza de que respirava. Passava os dias feito um zumbi, porque não conseguia dormir direito à noite. Acordava a toda hora, todas as noites. Vivia com aquele medo terrível.” Ela fechou os olhos por um momento, balançou a cadeira, franziu o cenho e apertou os braços da cadeira com as mãos, de tanta dor.
Concluí que Marino não queria ouvir o interrogatório da Sra. Steiner por estar com raiva. Sendo assim, permanecia fora da sala. Sabia que suas emoções exacerbadas prejudicavam o discernimento. Temia que não servisse mais para cuidar daquele caso com eficiência.
A Sra. Steiner abriu os olhos, que se fixaram nos meus, imediatamente. “Ele matou um monte de gente e agora está aqui”, ela disse.
“Quem?” Fiquei confusa, pois pensava em outra coisa.
“Temple Gault.”
“Não sabemos com certeza se ele está por aqui”, falei.
“Eu sei que está.”
“E como sabe?”
“Por causa do que ele fez com Emily. É a mesma coisa.” Uma lágrima escorreu por sua face. “Sabe, tenho medo de que ele me pegue, agora. No fundo, não me importa. O que me restou?”
“Lamento muito”, falei, com o máximo de gentileza. “Pode me contar mais alguma coisa sobre o domingo? O dia 1º de outubro?” “Fomos à igreja naquela manhã, como de costume. E à escola dominical. Almoçamos, e Emily foi para o quarto dela. Estudou violão, por algum tempo. Quase não a vi, para ser sincera.” Ela fitava o vazio, perdida nas reminiscências.
“Sabe se ela saiu de casa mais cedo, para a reunião do grupo de jovens?”
“Ela entrou na cozinha. Eu estava fazendo um bolo de banana. Ela disse que queria ir mais cedo, para estudar violão, e dei-lhe algumas moedas para a coleta, como sempre fazia.”
“E quando ela voltou para casa?”
“Comemos.” Ela não piscava. “Estava triste. E queria deixar Meia entrar em casa, mas eu disse que não.”
“Por que acha que ela estava triste?”
“Estava difícil. Sabe como as crianças ficam, quando são contrariadas. Ficou um pouco no quarto e foi dormir.”
“Gostaria que me falasse um pouco sobre seus hábitos alimentares”, pedi, recordando que Ferguson pretendia perguntar isso, na volta de Quantico. Suponho que não tenha havido a chance.
“Só beliscava. Comia pouco.”
“Ela jantou bem, na noite de domingo, depois do encontro de jovens?”
“Foi por isso que brigamos. Ela só ficou mexendo na comida. Criando caso.” Sua voz tornou-se mais firme. “Era sempre difícil... conseguir que ela comesse direito.”
“Ela sofria de diarreia, ou náuseas?”
Seus olhos me focalizaram. “Vivia doente.”
“Doente quer dizer muitas coisas, senhora Steiner”, falei, paciente. “Ela sofria de diarreia ou náusea com frequência?”
“Sim. Já disse isso ao senhor Ferguson.” As lágrimas voltaram, abundantes. “E não entendo por que precisavam repetir as mesmas perguntas, sem parar. Só machuca. Abre as feridas.”
“Lamento”, disse com gentileza, atônita. Quando poderia ter dito aquilo a Ferguson? Ele teria ligado, ao voltar de Quantico? Neste caso, ela foi uma das últimas pessoas a conversar com ele, antes que morresse.
“Nada disso aconteceu porque ela vivia doente”, a Sra. Steiner disse, chorando descontroladamente. “Acho que vocês deveriam fazer perguntas que ajudassem a pegar aquele monstro.”
“Senhora Steiner... sei que isso é difícil... mas onde morava, quando Mary Jo faleceu?”
“Ai, meu Deus do céu, me ajude!” Ela enterrou o rosto entre as mãos. Observei-a enquanto tentava se recompor. Os ombros subiam e desciam, enquanto chorava. Permaneci sentada, atordoada, enquanto ela recuperava a firmeza, pouco a pouco. Primeiro os pés, depois os braços, as mãos. Lentamente, ela ergueu os olhos e me encarou. Por trás do desespero brilhava uma luz fria, estranha, que me fez pensar no lago à noite, numa água tão escura que parecia outra coisa. Senti o incômodo que sentia ao sonhar.
Ela falou, em voz baixa. “O que eu gostaria de saber, doutora Scarpetta, é se a senhora conhece aquele sujeito.”
“Que sujeito?”, perguntei, e Marino entrou na sala, com um sanduíche de creme de amendoim e geleia feito com torradas, além do pano de prato e de uma garrafa de chablis.
“O sujeito que matou o menino. Já conversou com Temple Gault?”, ela perguntou, enquanto Marino punha o cálice de pé para servir o vinho e depositava o sanduíche ao lado.
“Pode deixar isso comigo, eu ajudo”, falei, tirando o pano de prato de sua mão para enxugar o vinho derramado.
“Diga como ele é”, ela pediu, fechando os olhos novamente.
Vi Gault na minha frente, os olhos penetrantes e o cabelo louro-claro. Era miúdo, rápido, de fisionomia angulosa. Mas os olhos... Jamais os esquecerei. Capazes de cortar uma garganta sem piscar. Sei que matou a todos com o mesmo olhar azul fixo.
“Como?”, falei, percebendo que a Sra. Steiner continuava falando.
“Por que o deixaram escapar?” Ela repetiu a pergunta, como se fosse uma acusação, e voltou a chorar.
Marino sugeriu que a deixássemos descansar um pouco, que fôssemos embora. Quando chegamos ao carro, seu humor estava péssimo.
“Gault matou o gato dela”, disse.
“Não podemos afirmar isso.”
“Estranho que tenha resolvido falar feito advogado, logo agora.”
“Sou advogada”, falei.
“Ah, claro. Desculpa eu esquecer que você também tirou esse diploma. Sabe, de vez em quando esqueço que você é doutora-advogada-chefe-indígena.”
“Sabe que Ferguson ligou para a senhora Steiner depois que saiu de Quantico?”
“Puxa, eu não sabia.”
“Ele mencionou, durante a reunião, que pretendia fazer algumas perguntas sobre a parte médica. Pelo que a senhora Steiner declarou, creio que ele as fez. Portanto, deve ter conversado com ela pouco antes de morrer.”
“Talvez tenha ligado assim que chegou em casa, vindo do aeroporto.”
“E depois subiu e colocou a corda no pescoço?”
“Não, doutora. Ele subiu para bater punheta. Talvez falar com ela tenha criado um clima.”
Era possível.
“Marino, qual é o sobrenome do menino de quem Emily gostava? Sei que o nome é Wren.”
“Por quê?”
“Quero conversar com ele.”
“Caso não saiba nada a respeito de crianças, são quase nove horas da noite e amanhã ele tem aula.”
“Marino”, retruquei sem me alterar, “responda à pergunta.”
“Sei que ele não mora longe da casa dos Steiner.” Ele entrou numa travessa e acendeu a luz interna. “O sobrenome dele é Maxwell.”
“Quero ir até a casa dele.” Ele consultou o bloco de anotações e olhou para mim de esguelha. Por trás dos olhos cansados, vi mais ressentimento. Marino estava sofrendo horrores.
Os Maxwell viviam numa casa de madeira moderna, provavelmente pré-fabricada, situada numa área arborizada, com vista para o lago. Entramos pelo acesso de cascalho, iluminado por lâmpadas cor de pólen. Estava frio o bastante para que as folhas de rododendro começassem a se enrolar, e nosso hálito era visível, enquanto aguardávamos na varanda que alguém atendesse. Quando a porta se abriu, vimos um homem jovem, esguio, de rosto magro e óculos de aro preto.
Usava um robe de lã escura e chinelo. Calculei que ninguém ficava acordado depois das dez, naquela cidade.
“Sou o capitão Marino, e esta é a doutora Scarpetta”, Marino disse, em tom policial sombrio, capaz de apavorar qualquer cidadão. “Estamos trabalhando com as autoridades locais no caso de Emily Steiner.”
“Vocês são da turma que veio de fora”, o homem disse.
“É o senhor Maxwell?”, Marino perguntou.
“Lee Maxwell. Por favor, entrem. Presumo que queiram falar sobre Wren.” Entramos na casa, e uma mulher obesa, de agasalho esportivo rosa, desceu a escada. Ela nos olhou como se soubesse exatamente o motivo que nos levara até ali.
“Ele está no quarto. Eu estava contando uma história para ele”, ela disse.
“Seria possível conversar com ele?”, perguntei, tentando remover qualquer tom de ameaça da voz, pois percebi que os Maxwell estavam tensos.
“Posso chamá-lo”, o pai disse.
“Acho melhor que eu suba”, falei.
A Sra. Maxwell mexia distraidamente num fio solto da manga do agasalho. Usava brincos miúdos, no formato de uma cruz, combinando com o colar.
“Então, enquanto a doutora cuida disso”, Marino falou, “eu posso conversar com vocês?”
“O policial que morreu já conversou com Wren”, disse o pai.
“Sei disso.” Marino falou de um modo que indicava sua indiferença a respeito de quem já havia conversado com o filho deles. “Prometemos não ocupar muito de seu tempo”, acrescentou.
“Claro, tudo bem”, a Sra. Maxwell me disse.
Segui seus passos lentos, pesados, escada sem carpete acima, até o andar superior. Havia poucos quartos, mas estavam tão iluminados que meus olhos doeram. Não havia um único canto, dentro ou fora da casa dos Maxwell, que não estivesse profusamente iluminado. Entramos no quarto de Wren e o encontramos de pijama, em pé no meio do aposento. Ele nos encarava, como se o tivéssemos surpreendido fazendo algo que não deveríamos ver.
“Por que não está na cama, filho?” A Sra. Maxwell parecia mais cansada do que brava.
“Estava com sede.”
“Quer que eu pegue outro copo d'água?”
“Não precisa.” Entendi as razões que levaram Emily a considerar Wren Maxwell uma gracinha. Crescera mais do que a capacidade dos músculos para acompanhá-lo, e o cabelo louro queimado de sol teimava em cair sobre os olhos azul-escuros. Meio desajeitado, de tão alto, tinha pele e boca perfeitas, mas roía as unhas até a carne. Usava pulseiras de couro trançadas que só poderiam ser tiradas se fossem cortadas, e elas revelavam que era muito popular na escola, principalmente entre as meninas, embora as tratasse rudemente, calculei.
“Wren, esta é a doutora...”, ela olhou para mim, “lamento, mas não entendi seu nome direito.” “Sou a doutora Scarpetta.” Sorri para Wren, cuja expressão revelava espanto.
“Não estou doente”, ele disse rapidamente.
“Ela não é médica de crianças”, a Sra. Maxwell disse ao filho.
“E que tipo de médica você é?” Rapidamente, a curiosidade superou-o constrangimento.
“Bem, ela é uma doutora, mais ou menos como Lucias Ray.”
“Ele não é doutor”, Wren falou para a mãe, emburrado. “Ele é agente funerário.”
“Entre na cama, filho, para não pegar um resfriado. Doutora Scarletti, pode pegar aquela cadeira. Sente-se ao lado da cama. Espero lá embaixo.”
“O nome dela é Scarpetta”, o menino disparou, mas a mãe já estava perto da porta.
Ele entrou na cama, e puxou o cobertor de lã cor de chiclete. Notei que o tecido da cortina fechada, cobrindo a janela, era decorado com estampas alusivas ao beisebol, e vi as silhuetas dos troféus, atrás dela. Nas paredes de pinho havia pôsteres de vários ídolos esportivos, mas não reconheci nenhum, exceto Michael Jordan em pleno ar, como era de se esperar, usando tênis Nike, como um deus magnífico. Puxei a cadeira para mais perto da cama e me senti velha, repentinamente.
“Qual seu esporte preferido?”, perguntei.
“Jogo nos Yellow Jackets”, respondeu animado, pois encontrara uma parceira em sua conspiração para ficar acordado até mais tarde.
“Yellow Jackets, é?”
“É o time da divisão infantil. Sabe, costumamos ganhar de todo mundo, por aqui. Como é que você não conhece?”
“Conheceria, com certeza, se eu morasse aqui, Wren. Mas não moro.” Ele me olhava como se eu fosse uma criatura exótica, atrás de um vidro, no zoológico. “Também jogo basquete. Consigo driblar entre as pernas. Aposto que você não consegue.”
“Tem toda a razão. Mas, gostaria que falasse de sua amizade com Emily Steiner.” Seus olhos se desviaram para as mãos, que mexiam nas beiradas do cobertor, nervosas.
“Fazia muito tempo que a conhecia?”, prossegui.
“Eu a via, por aí. Estávamos no mesmo grupo, na igreja.” Ele olhou para mim. “Além disso, estávamos os dois na sexta série. Mas em classes diferentes. A minha é a da senhora Winters.”
“Conheceu Emily assim que a família dela se mudou para cá?”
“Acho que sim. Eles vieram da Califórnia. Minha mãe disse que lá tem terremoto porque as pessoas não acreditam em Jesus.” “Parece que Emily gostava muito de você. Sabia disso?” Ele fez que sim, baixando os olhos novamente.
“Wren, pode falar da última vez em que a viu?”
“Foi na igreja. Ela foi com o violão, porque era a vez dela.”
“Vez de fazer o quê?”
“Música. Normalmente, Owen ou Phil tocam piano, mas a Emily tocava violão de vez em quando. Não era muito boa.”
“Você ia se encontrar com ela na igreja, naquela tarde?” Seu rosto ficou corado; ele mordeu o lábio inferior, para que não tremesse.
“Pode ficar tranquilo, Wren. Você não fez nada de errado.”
“Pedi a ela que me encontrasse lá, mais cedo”, ele disse, baixinho.
“Qual foi a reação dela?”
“Ela disse que ia, mas pediu para não dizer isso a ninguém.”
“Por que desejava encontrá-la lá mais cedo?” Tentava avançar mais.
“Queria ver se ela ia.”
“Por quê?” Seu rosto ficou vermelho, e ele tentava, com dificuldade, controlar as lágrimas.
“Não sei”, respondeu, com um fio de voz.
“Wren, conte o que aconteceu.”
“Fui de bicicleta até a igreja, só para ver se ela estava lá.”
“E a que horas isso ocorreu?”
“Não sei. Mas foi pelo menos uma hora antes de começar o encontro”, ele disse. “Eu a vi, através da janela. Estava lá dentro, sentada no chão, tocando violão.”
“E depois?”
“Fui embora e voltei às cinco, com Paul e Will. Eles moram aqui perto.” Ele apontou para fora.
“Falou alguma coisa a Emily?”, perguntei.
As lágrimas escorrem pela face e ele as limpa, impaciente. “Não falei nada. Ela ficou me encarando, mas eu fiz de conta que não a vi. Ela estava zangada. Jack perguntou se havia algum problema.”
“Quem é Jack?”
“O líder do grupo de jovens. Ele está no colégio de Montreal Anderson. É muito gordo e usa barba.”
“O que ela respondeu, quando Jack perguntou se havia algum problema?”
“Ela disse que estava pegando uma gripe. Depois, foi embora.”
“Muito antes do final do encontro?”
“Quando eu estava pegando o cesto que fica em cima do piano. Era a minha vez de fazer a coleta.”
“Isso aconteceu bem no final do encontro?”
“Foi aí que ela saiu. Pegou o atalho.” Ele mordeu o lábio inferior e agarrou o cobertor com tanta força que os ossinhos de sua mão ficaram claramente visíveis.
“Como sabe que ela pegou o atalho?”, perguntei.
Ele me olhou e fungou alto. Dei-lhe alguns lenços de papel, e ele assoou o nariz.
“Wren”, insisti, “você realmente viu Emily pegar o atalho?”
“Não, senhora”, ele disse, debilmente.
“Alguém a viu pegar o atalho?”
Ele deu de ombros.
“Então, por que pensa que ela fez isso?”
“Todo mundo falou”, ele disse, simplesmente.
“Assim como todo mundo falou onde o corpo dela foi encontrado?” Tentei ser gentil. Como ele não respondeu, acrescentei, com mais autoridade: “E você já sabia exatamente onde estava, não é, Wren?”.
“Sim, senhora”, ele respondeu, num sussurro.
“Poderia me falar daquele local?”
Sem tirar os olhos das mãos, ele respondeu: “É só um lugar onde um monte de pessoas de cor vai pescar. Tem mato, limo, sapos enormes e cobras penduradas nas árvores, e era lá que ela estava. Um homem de cor a encontrou, e ela estava só de meia, e ele sentiu tanto medo que ficou branco que nem você. Depois disso, papai acendeu todas as luzes”.
“Luzes?”
“Ele instalou lâmpadas nas árvores e por todo canto. Tenho dificuldade para dormir, e minha mãe fica brava.”
“Foi seu pai quem lhe contou sobre aquele local, no lago?”
Wren fez que não, com a cabeça.
“Então, quem foi?”
“Creed.”
“Creed?”
“Ele é zelador da escola. Faz palitos de dentes e vende por um dólar. Dez por um dólar. Ele deixa de molho em menta ou canela. Gosto mais do de canela, porque é bem ardido, que nem Fireballs. Troco os palitos por balas, às vezes, quando não tenho o dinheiro do lanche. Mas você não pode dizer isso a ninguém.” Ele parecia preocupado.
“Como Creed é?”
Comecei a questioná-lo, percebendo que o alarme soava no fundo de minha mente.
“Não sei”, Wren disse. “Ele é latino, porque sempre usa meia branca com sapato. Acho que é bem velho.” E suspirou.
“Sabe o sobrenome dele?”
Wren fez que não.
“Ele sempre trabalhou na sua escola?”
Wren balançou a cabeça de novo, negativamente. “Ele ficou no lugar de Albert. Quando Albert ficou doente de tanto fumar, precisaram cortar o pulmão dele.”
“Wren”, perguntei, “Creed e Emily se conheciam?”
Ele estava falando cada vez mais depressa. “A gente mexia com ela, dizendo que Creed era namorado dela, porque uma vez ele lhe deu umas flores que havia colhido. E dava balas, porque ela não gostava dos palitos de dente. Sabe, muitas meninas preferem balas a palitos.”
“Sim”, respondi, com um sorriso triste. “Acho que a maioria prefere mesmo as balas.” Fiz a última pergunta a Wren, se ele havia passado pelo local onde o corpo de Emily fora encontrado, na beira do lago. Ele negou.
“Acredito nele”, falei a Marino no carro, enquanto nos afastávamos da casa iluminada dos Maxwell.
“Eu não. Acho que está contando um monte de mentiras, para evitar que o pai lhe dê uma surra daquelas.” Ele ligou o aquecimento. “Este carro tem o melhor aquecimento que já vi na vida. Só falta mesmo esquentar o banco, como o seu Mercedes.” “Pelo modo como descreveu a cena no lago, jamais esteve lá”, insisti. “Não creio que tenha deixado cair as balas, Marino.” “Então, quem foi?”
“O que sabe sobre um funcionário da escola chamado Creed?”
“Absolutamente nada.”
“Bem”, falei, “acho melhor descobrir tudo. E tem mais uma coisa. Não creio que Emily tenha seguido pelo atalho da beira do lago, ao voltar da igreja para casa.”
“Merda”, ele reclamou, “odeio quando você fica assim. Quando as peças começam a se encaixar no lugar, você vem e mistura tudo, como se fosse um quebra-cabeça na caixa.”
“Marino, percorri a trilha do lago. Não seria possível que uma menina de onze anos – ou qualquer outra pessoa, se quer saber – andasse por lá ao escurecer. E já estava praticamente escuro, às seis da tarde, quando Emily voltou para casa.”
“Então ela mentiu para a mãe”, Marino disse.
“Pelo jeito, mentiu mesmo. Mas por quê?”
“Porque Emily planejava alguma coisa.”
“Por exemplo?”
“Não sei. Tem scotch no seu quarto? Quero dizer, não adianta perguntar se tem bourbon.”
“Tem razão”, ele disse. “Não tenho bourbon.”
Cinco recados me esperavam, quando voltei ao Travel-Eze. Eram de Benton Wesley. O FBI ia mandar um helicóptero para me apanhar, ao amanhecer.
Quando consegui falar com Wesley, ele se mostrou evasivo. “Entre outras coisas, temos uma situação de crise com sua sobrinha. Queremos que volte imediatamente a Quantico.”
“O que aconteceu?”, perguntei, sentindo um aperto no estômago. “Lucy está bem?”
“Kay, esta linha não é segura.”
“Mas ela está bem?”
“Fisicamente”, ele disse, “está ótima.”
10
Na manhã seguinte acordei em meio à névoa e nem conseguia avistar as montanhas. A volta para o Norte foi adiada para a parte da tarde, e saí para correr, sentir o ar úmido e frio.
Percorri o bairro de casas aconchegantes e carros modestos, sorri quando um collie miniatura, atrás de uma cerca alambrada, percorreu toda a extensão do jardim, latindo freneticamente para as folhas que caíam. A dona saiu da casa, quando passei.
“Shooter, já chega. Cale a boca!” A mulher usava robe de matelassê, chinelo felpudo e bobes. Aparentemente, não se importava nem um pouco em sair daquele jeito. Abaixou-se para pegar o jornal, que bateu contra a mão, gritando mais um pouco. Imaginei que, antes da morte de Emily Steiner, o único crime capaz de preocupar as pessoas naquela parte do mundo seria ter o jornal furtado por algum vizinho ou ver que haviam estendido papel higiênico nas árvores do jardim.
Cigarras entoavam a mesma canção rouca da noite anterior. Acácias, ervilhas-de-cheiro e ipomeias brilhavam, cobertas de orvalho. Começou a chuviscar por volta das onze e senti-me como se estivesse em pleno mar, rodeada pelas ondas. Imaginei que o sol fosse uma escotilha, e que, se pudesse olhar para o outro lado, veria o final daquele dia cinzento.
Passava das duas e meia quando o tempo melhorou o suficiente para permitir minha decolagem. Soube que o helicóptero não poderia pousar no campo da escola, porque os Warhorses e suas balizas estariam ensaiando. Por isso, Whit desceria para me encontrar num campo gramado, do outro lado de um portão duplo com arco de pedra rústica, na pequenina localidade chamada Montreat, presbiteriana como a predestinação, a poucos quilômetros do Travel-Eze.
A polícia de Black Mountain chegou antes que Whit aparecesse; esperei dentro da viatura, no acostamento da estradinha de terra, observando as crianças que brincavam.
Os meninos corriam atrás das meninas, e elas atrás deles, em busca da glória perene de tirar o pano vermelho da cintura do oponente. As vozes infantis chegavam, trazidas pelo vento que, às vezes, roubava o pano e o transportava por entre os ramos das árvores que se erguiam em volta do campo. Sempre que este espiralava para além de seus limites, na direção do mato ou da rua, todos paravam. A igualdade era suspensa, e as meninas aguardavam até que os meninos recuperassem o trapo. Depois a brincadeira prosseguia.
Lamentei interromper a folia inocente da criançada, quando o ruído inconfundível do helicóptero tornou-se audível. A surpresa imobilizou as crianças, e o Bell JetRanger pousou no centro do campo, rugindo e levantando poeira. Subi e acenei em despedida, enquanto subíamos acima das árvores.
O sol se punha no horizonte, como Apoio a deitar-se para dormir, e o céu ficou escuro como tinta de polvo. Não havia estrelas, quando chegamos à academia. Benton Wesley, que se mantinha informado sobre nosso progresso pelo rádio, estava esperando, quando pousamos. No instante em que desci do helicóptero, ele segurou meu braço e me levou para longe das pás.
“Vamos”, disse. “Estou contente em revê-la, Kay”, acrescentou em voz baixa, e a pressão de seus dedos no braço me perturbou ainda mais. “A impressão digital encontrada na calcinha de Ferguson pertencia a Denesa Steiner.”
“Como é?” Ele me puxava, apressado, no escuro. “E o tipo sanguíneo do tecido encontrado no freezer era O positivo. O de Emily Steiner era O positivo. Ainda esperamos o resultado do teste de DNA, mas parece que Ferguson roubou a lingerie da casa de Steiner, quando entrou para sequestrar Emily.”
“Quer dizer, quando alguém entrou e sequestrou Emily.”
“Isso mesmo. Gault pode estar querendo brincar conosco.”
“Benton, pelo amor de Deus, que crise é essa? Onde está Lucy?”
“Acredito que em seu alojamento, agora”, ele disse, quando entramos no saguão de Jefferson.
Forcei os olhos, na penumbra, e não fui recebida pelo aviso digital no guichê de informações, que sempre anunciava: BEM-VINDO À ACADEMIA DO FBI. Não me sentia bem-vinda, naquela noite.
“O que ela aprontou?”, insisti, enquanto ele usava um cartão magnético para destrancar a porta de vidro dupla, com os brasões do Departamento de Justiça e da Academia Nacional.
“Espere até chegarmos lá embaixo”, ele disse.
“Como está sua mão? E o seu joelho?”, lembrei-me de perguntar.
“Bem melhores, desde que fui ao médico.”
“Muito obrigada”, falei, secamente.
“Estou falando de você. Não consultei nenhum outro médico, recentemente.”
“Então acho melhor eu cuidar dos pontos, enquanto estiver aqui.”
“Não será necessário.”
“Preciso de água oxigenada e gaze. Não se preocupe.” Senti cheiro de Hoppes, quando passamos pela sala de armas. “Não vai doer muito.” Descemos até o nível inferior pelo elevador. Ali se encontrava a Unidade de Apoio às Investigações, a arma oculta do FBI. Wesley comandava onze especialistas, mas naquela hora todos já haviam voltado para casa. Sempre me encantara com o espaço onde Wesley trabalhava, pois ele era um sujeito sensível e discreto, e ninguém perceberia isso sem o conhecer direito.
Enquanto a maioria dos policiais enchia a parede de medalhas e suvenires da luta contra a natureza humana primitiva, Wesley preferia quadros, e possuía alguns muito bons. Meu favorito era uma grande paisagem de Valoy Eaton, que eu considerava tão boa quanto qualquer uma de Remington. Um dia, ainda valeria tanto quanto. Eu possuía várias telas de Eaton em casa, e não deixava de ser curioso que Wesley e eu tivéssemos descoberto um artista de Utah, independentemente um do outro.
Isso não quer dizer que Wesley não guardasse troféus exóticos ocasionais. Mas ele só exibia os que tinham algum significado. O boné branco de policial vienense, o gorro de pele de urso de um guarda da Cold Stream, esporas de prata de gaúcho argentino, por exemplo, nada tinham a ver com serial killers ou qualquer outra atrocidade que povoava o cotidiano de Wesley. Eram presentes de amigos viajados, como eu. Na verdade, Wesley conservava algumas lembranças de nosso relacionamento, pois eu costumava falar por símbolos quando me faltavam palavras. Ele tinha uma bainha de punhal italiana, uma pistola com cabo de marfim entalhado e uma caneta Mont Blanc, que levava sempre no bolso da camisa, perto do peito.
“Conte tudo”, falei, puxando uma cadeira. “O que está havendo por aqui? Você parece péssimo.”
“Eu me sinto péssimo.” Ele afrouxou a gravata e passou os dedos no cabelo. “Kay”, disse, encarando-me, “nem sei como contar isso a você. Puxa vida!”
“Diga logo de uma vez.”
“Parece que Lucy invadiu o ERF, violando normas de segurança.”
“Como ela poderia ter invadido o ERF? Ela tem permissão de acesso ao local, Benton.”
“Ela não tem permissão para estar lá às três da madrugada. Foi essa a hora registrada pelo sistema biométrico de reconhecimento eletrônico de impressões digitais.”
Eu o encarei, atônita.
“E sua sobrinha certamente não tem permissão para vasculhar arquivos secretos, referentes a projetos confidenciais em andamento.”
“Que projetos?”, perguntei.
“Ao que parece, ela consultou arquivos referentes a sistemas ópticos eletrônicos, registro térmico de imagens, vídeo e áudio de alta definição. E, pelo jeito, imprimiu programas da versão eletrônica do trabalho que estava fazendo para nós.”
“Você quer dizer de CAIN?”
“Sim, isso mesmo.”
“E onde ela não mexeu?”
“Bem, esse é realmente o problema. Ela andou examinando tudo, o que quer dizer que se torna difícil saber o que procurava, e para quem.”
“Esses projetos que os engenheiros desenvolvem são realmente tão secretos assim?”
“Alguns são. E todas as técnicas, também, do ponto de vista da segurança. Não queremos que ninguém saiba qual é o equipamento usado numa situação ou noutra.”
“Ela não pode ter feito isso”, falei.
“Sabemos que fez. Só resta saber o motivo.”
“Tudo bem. Qual poderia ter sido o motivo?” Pisquei para afugentar as lágrimas.
“Dinheiro. Pelo menos, é o meu palpite.”
“Isso é ridículo. Se ela precisasse de dinheiro, poderia pedir a mim.”
“Kay...” Wesley debruçou-se e cruzou as mãos em cima da mesa. “Você tem ideia do quanto valem tais informações?” Não respondi. “Imagine, por exemplo, que o ERF tenha desenvolvido um aparelho de escuta capaz de filtrar a maior parte dos ruídos de fundo, permitindo que escutássemos praticamente todas as conversas que nos interessassem, em qualquer lugar do mundo. Imagine quanta gente não adoraria saber detalhes sobre o protótipo, ou sobre os sistemas de satélites táticos, ou mesmo do software de inteligência artificial que Lucy está desenvolvendo...”
Ergui a mão para interrompê-lo. “Já chega. Entendi.” Tomei fôlego e soltei um suspiro, trêmula.
“Então, diga você o motivo”, Wesley falou. “Conhece Lucy melhor do que eu.”
“Já nem sei se a conheço, a esta altura. Não sei como ela foi capaz de fazer uma coisa dessas, Benton.” Ele fez uma pausa, desviando a vista por um momento, antes de me encarar novamente. “Você falou que andava preocupada com ela, por causa da bebida. Pode dar detalhes?”
“Tenho a impressão de que ela bebe como faz tudo: com exagero. Lucy é muito boa ou muito má. O álcool é só um exemplo”:” Sabia, ao pronunciar essas palavras, que alimentava as suspeitas de Wesley.
“Entendo”, ele disse. “Há casos de alcoolismo na família?”
“Começo a pensar que há casos de alcoolismo na família de todo mundo”, falei, amargurada. “A resposta é sim. O pai dela bebia.” “Seu cunhado?”
“Por pouco tempo. Como sabe, Dorothy casou-se quatro vezes.”
“Você sabia que Lucy nem sempre dormia em seu próprio quarto?”
“Não sabia de nada. Ela estava na cama, na noite da invasão? Tem colegas de quarto e de apartamento, certo?”
“Ela pode ter saído de fininho, enquanto todas dormiam. Portanto, não sabemos. Você e sua sobrinha se entendem bem?”, ele perguntou.
“Não muito.”
“Kay, ela poderia ter feito isso para punir você?”
“Não”, falei, e comecei a ficar furiosa com ele. “E não estou interessada, no momento, em ser usada para traçar o perfil psicológico de minha sobrinha.”
“Kay”, sua voz se encheu de ternura, “não quero que isso seja verdade, tanto quanto você não quer. Eu a recomendei ao ERF. Esforcei-me para que fosse contratada, quando se formou na UVA. Acha que estou gostando disso?”
“Deve haver uma explicação plausível para tudo.”
Ele balançou a cabeça. “Mesmo que alguém descobrisse o número de identificação de Lucy, apenas com seu PIN não conseguiria entrar, pois o sistema biométrico precisa scannear o dedo de Lucy.”
“Então, ela queria ser descoberta”, retruquei. “Lucy, mais do que ninguém, saberia que os horários de entrada e saída seriam registrados, quando consultasse arquivos restritos no computador. Bem como alterações e outros detalhes.”
“Concordo. Ela saberia de tudo isso, mais do que qualquer um. Sendo assim, estou mais interessado no motivo. Em outras palavras, o que tentava provar? A quem pretendia magoar?”
“Benton”, falei, “o que vai acontecer?”
“O OPR realizará uma investigação oficial”, ele respondeu, referindo-se ao Departamento de Responsabilidade Profissional do FBI, equivalente à corregedoria das polícias comuns.
“E se ela for considerada culpada?”
“Depende. Se conseguirem provar que roubou alguma coisa, é crime.”
“Caso contrário?”
“Também depende do que o OPR descobrir. Mas posso adiantar que Lucy, no mínimo, violou as normas de segurança e que não tem futuro no FBI.”
Minha boca estava tão seca que eu quase não conseguia falar. “Ela vai ficar arrasada.”
Os olhos de Wesley traíam sua fadiga e desapontamento. Eu sabia o quanto ele apreciava minha sobrinha. “Neste meio tempo”, ele disse, usando o tom neutro que empregava na revisão de casos, “ela não pode permanecer em Quantico. Já foi avisada para fazer a mala. Talvez possa ficar em Richmond, até concluirmos a investigação.”
“Claro. Mas, você sabe, não estarei lá o tempo inteiro.”
“Ela não está em prisão domiciliar, Kay”, ele disse, e seus olhos ganharam brilho, por um instante. Por um momento, pude vislumbrar o que se agitava no fundo daquele sujeito tranquilo, frio.
Ele se levantou.
“Eu a levarei até Richmond esta noite, de carro”, falei, e também me levantei. “Espero que você fique bem”, ele disse, e eu sabia a que se referia, embora não pudesse pensar no assunto naquele momento.
“Obrigada”, respondi, e meus impulsos percorreram os neurônios a toda a velocidade, como se travassem uma feroz batalha dentro de meu cérebro.
Lucy estava desfazendo a cama quando entrei em seu quarto, pouco tempo depois. Ela me deu as costas, quando entrei.
“Posso ajudar em alguma coisa?”, perguntei.
Ela enfiou os lençóis num travesseiro. “Em nada”, respondeu. “Está tudo sob controle.” Seus aposentos eram mobiliados de modo simples, com os móveis institucionais: duas camas iguais, cadeiras folhadas com carvalho. Para os padrões de um apartamento yuppie, os quartos dos dormitórios em Washington eram terríveis. No entanto, como alojamento de quartel, não eram tão ruins. Imaginei onde estariam as colegas de quarto e de apartamento de Lucy, e se teriam ideia do ocorrido.
“Olhe no guarda-roupa, só para garantir que não me esqueci de nada”, Lucy disse. “É o da direita. Veja também nas gavetas.” “Está tudo vazio. Os cabides não são seus? Estes aqui, revestidos. São bonitos.”
“Da minha mãe.” “Então vai querer levá-los, creio.”
“Não. Deixe-os para a próxima idiota que se meter neste buraco.”
“Lucy”, falei, “não é culpa do FBI.”
“Não é justo.” Ela se ajoelhou sobre a mala, para prender as correias. “E o que aconteceu com aquela história de ser inocente até que se prove sua culpa?”
“Legalmente, você é inocente até prova em contrário. Mas enquanto a questão da quebra da segurança não for esclarecida, ninguém pode culpar a academia por impedir que você trabalhe em áreas restritas. Além disso, não foi presa. Só pediram que se afastasse por algum tempo.” Ela virou, para me encarar, com os olhos congestionados, vermelhos. “Por algum tempo quer dizer para sempre.” Quando a interroguei, no carro, ela vacilou entre lágrimas sofridas e acusações inflamadas contra tudo e contra todos. Depois dormiu, e eu continuei sem saber nada.
Uma chuva fria começou a cair, e liguei os faróis de neblina, seguindo a trilha de luzes vermelhas brilhantes morro acima. De vez em quando, infelizmente, a chuva e as nuvens se uniam para tornar quase impossível a visão. Mas, em vez de parar e esperar que o tempo melhorasse, reduzi a marcha e segui adiante, em minha máquina feita de nogueira, couro macio e aço.
Ainda não sabia direito por que havia comprado um Mercedes 500E preto. Depois da morte de Mark, porém, precisava dirigir um carro novo. Pode ter sido por causa das lembranças, pois havíamos brigado e amado desesperadamente dentro do meu carro anterior. Ou, talvez, a vida estivesse simplesmente se tornando mais difícil à medida que eu envelhecia, e precisava de um veículo potente para continuar avançando.
Percebi que Lucy se mexia, quando virei para entrar em Windsor Farms, o antigo bairro de Richmond onde eu vivia entre imponentes mansões em estilo Tudor e George V, não muito distante das margens do rio James. Os faróis bateram nos refletores minúsculos dos pedais da bicicleta de um garoto desconhecido, à frente. Passei por um casal de estranhos, que passeava de mãos dadas, com o cachorro ao lado. Os eucaliptos haviam despejado mais uma leva de sementes duras no meu jardim, vi os jornais de vários dias na varanda, enrolados. As latas de lixo continuavam na beira da calçada. Eu não precisava passar muito tempo fora para que me sentisse uma intrusa em minha própria casa, e esta revelasse que não havia ninguém vivendo ali.
Enquanto Lucy descarregava a bagagem, acendi a lareira a gás na sala, e preparei um bule de chá Darjeeling. Por um momento, sentada na frente do fogo, escutei os sons emitidos por minha sobrinha, enquanto se instalava, tomava uma ducha e se preparava. Estávamos a ponto de ter uma conversa apavorante para nós duas.
“Está com fome?”, perguntei, assim que ouvi seus passos, e ela entrou na sala.
“Não. Tem cerveja?” Hesitei, e depois disse: “Na geladeira do bar”.
Escutei, apenas, por mais algum tempo, sem me voltar, pois quando olhava para Lucy eu a via como desejava que ela fosse. Tomando chá, tomei coragem para enfrentar aquela mulher assustadora, linda e brilhante, com quem compartilhava parte de meu código genético. Depois de tantos anos, chegara o momento do encontro.
Ela aproximou-se da lareira e sentou-se no assoalho, encostando no revestimento de pedra, para tomar a cerveja Icehouse na garrafa. Usava o conjunto esportivo de colorido vistoso que eu vestia nas raras ocasiões em que jogava tênis, atualmente. Estava descalça, com os cabelos penteados para trás. Percebi que, se não a conhecesse e a visse passar, viraria a cabeça para olhá-la melhor, não somente por seu rosto e corpo graciosos. Era fácil notar a elegância com que Lucy falava, andava e comandava seu corpo nos mínimos detalhes, principalmente os olhos. Ela fazia com que tudo parecesse mais fácil, e talvez por isso não tivesse muitos amigos.
“Lucy”, falei, “me ajude a entender o que houve.”
“Fui sacaneada”, ela disse, tomando um gole de cerveja.
“Se é verdade, por quem?”
“Como assim, se?” Ela me encarou com intensidade, e os olhos cheios de lágrimas. “Como pode pensar, mesmo por um minuto... Merda. Não adianta nada.” Ela desviou a vista.
“Não posso ajudá-la, se não me disser a verdade”, falei, e me levantei. Tampouco sentia fome, concluí. Fui até o bar e peguei um scotch com gelo picado.
“Vamos começar pelos fatos”, sugeri, ao retornar à poltrona. “Sabemos que alguém entrou no ERF, por volta das três da manhã, na terça-feira. Sabemos que seu PIN foi usado e seu polegar scanneado. Consta dos registros também que essa pessoa – que tinha seu PIN e sua impressão digital – consultou vários arquivos, e que saiu do sistema exatamente às quatro e trinta e oito da manhã.” “Fui enganada e sabotada”, Lucy disse.
“E onde você estava, quando tudo isso ocorreu?”
“Dormindo.” Ela bebeu o resto da cerveja, furiosa, e levantou-se para pegar mais uma.
Tomei o scotch lentamente, pois não dá para beber um Dewar's Mist muito depressa. “Andaram dizendo que sua cama ficava vazia, à noite, de vez em quando”, falei pausadamente.
“Quer saber de uma coisa? Não é da conta de ninguém.”
“Bem, agora é, e você sabe disso. Estava na sua cama, na noite da ocorrência?”
“É problema meu, em que cama eu estava, e onde e quando. De mais ninguém”, ela disse.
Ficamos em silêncio, enquanto eu pensava em Lucy sentada em cima da mesa de piquenique, no escuro, seu rosto iluminado apenas pelo fósforo nas mãos em concha de outra mulher. Ouvi sua voz, falando com a amiga, e compreendi as emoções contidas nas palavras, pois conhecia bem a linguagem da intimidade. Sabia reconhecer quando o amor estava na voz de alguém e quando não estava.
“Onde você estava, exatamente, quando aconteceu o acesso ilegal ao ERF?” Insisti. “Ou devo perguntar com quem estava?”
“Eu nunca pergunto com quem você estava.”
“Se perguntar, pode acabar me salvando de um monte de problemas.”
“Minha vida particular é irrelevante”, ela disse.
“Acho que você está com medo da rejeição”, eu disse.
“Não sei do que você está falando.”
“Eu a vi na área de piquenique, uma noite dessas. Estava com uma amiga.”
Ela desviou a vista. “Quer dizer então que resolveu me espionar também.” Sua voz tremia. “Bem, não gaste seus sermões comigo, e pode se esquecer do sentimento de culpa católico, pois não acredito nisso.”
“Lucy, não a julgo”, disse, mas de certa forma, julgava. “Quero só entender.”
“Você me considera anormal ou pervertida. Caso contrário, não precisaria querer entender nada. Eu seria aceita, simplesmente, sem maiores elaborações.”
“Sua amiga não pode testemunhar que estava com ela, às três da manhã de terça-feira?”, perguntei.
“Não”, ela respondeu.
“Entendo.” Foi só o que eu disse, e minha aceitação de sua condição era uma concessão à menina que, concluí, já não existia. Não conhecia aquela nova Lucy e fiquei imaginando onde havia errado.
“O que vai fazer agora?”, ela me perguntou, mais tarde, conforme a noite ia passando, tensa.
“Tenho um caso na Carolina do Norte. Acho que vai ser preciso ficar por lá durante algum tempo”, falei.
“E quanto ao seu trabalho aqui?”
“Fielding pode cuidar de tudo. Tenho que depor num julgamento, amanhã de manhã, creio. Na verdade, preciso ligar para Rose, e confirmar o horário.”
“Que tipo de caso?”
“Homicídio.”
“Já imaginava. Posso ir com você?”
“Se quiser.”
“Bem, talvez volte para Charlottesville.”
“Para fazer o quê?”, perguntei.
Lucy mostrou-se amedrontada. “Não sei. Nem sei como chegar lá, na verdade.”
“Pode pegar o meu carro, quando eu não estiver precisando dele. Ou ficar em Miami até o final do semestre e voltar para a UVA.” Ela bebeu o último gole de cerveja e levantou-se, com os olhos cheios de lágrimas novamente. “Vamos lá, pode admitir, tia Kay. Acha que fui eu, não é?”
“Lucy”, falei com sinceridade, “não sei o que pensar. Você e as provas estão dizendo coisas diferentes.”
“Nunca duvidei de você.” Ela me olhava como se eu tivesse partido seu coração.
“Pode ficar aqui até depois do Natal”, falei.
11
O membro da gangue de North Richmond em julgamento na manhã seguinte usava terno tipo jaquetão azulmarinho e gravata de seda italiana com nó Windsor impecável. A camisa branca parecia novinha em folha; estava bem barbeado e tirara o brinco.
O advogado de defesa, Tod Coldwell, vestira o cliente bem, pois sabia que os jurados encontravam profunda dificuldade em aceitar a noção de que as aparências enganam.
Confiando também nas aparências, incluí como prova o máximo possível de fotos coloridas da autópsia da vítima. Poderia dizer, com segurança, que Coldwell, dono de uma Ferrari vermelha, não morria de amores por mim.
“Não é verdade, senhora Scarpetta”, Coldwell pontificou no tribunal, naquele dia frio de outono, “que pessoas sob a influência de cocaína podem se tornar muito violentas, e que elas adquirem força sobre-humana?”
“Com certeza, a cocaína pode levar o usuário a um estado alucinatório, de alta excitação”, prossegui, sempre dando as respostas ao júri. “A força sobre-humana, como o senhor a define, é frequentemente associada a cocaína e ao PCP, um tranquilizante para cavalos.”
“E no sangue da vítima havia tanto cocaína como benzoilecgonina”, Coldwell prosseguiu, como se eu estivesse concordando com ele.
“Sim, havia.”
“Senhora Scarpetta, poderia explicar ao júri o que isso significa?”
“Gostaria de explicar ao júri, inicialmente, que sou formada em medicina, e também em direito. Especializeime em patologia e, posteriormente, em patologia forense, como o senhor já mencionou, senhor Coldwell. Portanto, prefiro ser tratada como doutora Scarpetta, e não senhora Scarpetta.”
“Pois não, madame.”
“Poderia repetir a pergunta, por gentileza?”
“Poderia explicar ao júri o que significa alguém ter no sangue cocaína e”, ele consultou as anotações, “benzoilecgonina?”
“A benzoilecgonina é um metabólico da cocaína. Encontrar ambos no sangue significa que uma parte da cocaína ingerida pela vítima havia sido metabolizada e outra parte ainda não”, respondi, percebendo a presença de Lucy num canto, com o rosto parcialmente oculto por uma coluna. Ela estava com péssima aparência.
“O que demonstraria sua condição de usuário frequente de altas doses, principalmente se levarmos em conta as marcas antigas de agulha. E isso também indica que meu cliente, ao ser abordado pelo elemento na noite de 3 de julho, encontrou pela frente um sujeito violento, excitado e agitado, e que não teve outra escolha senão a legítima defesa.” Coldwell andava de um lado para outro e seu cliente arrumadinho me observava como se fosse um felino nervoso.
“Senhor Coldwell”, falei, “a vítima – Jonah Jones – levou dezesseis tiros de uma arma Tec-Nine nove milímetros, que tem capacidade para disparar trinta e dois projéteis. Sete projéteis estavam em suas costas, e três tiros foram disparados à queima-roupa, na nuca do senhor Jones. Em minha opinião, esses disparos não são compatíveis com uma situação na qual a pessoa esteja tentando se defender, especialmente neste caso, pois o sangue do senhor Jones registrava um índice de dois ponto nove de álcool, que é o triplo do limite legal, na Virgínia. Em outras palavras, a coordenação motora da vítima e sua capacidade de julgamento encontravam-se substancialmente prejudicadas quando ele foi atacado. Francamente, chega a ser surpreendente que o senhor Jones estivesse em pé.”
Coldwell deu meia-volta para encarar o juiz Poe, que carregava o apelido de O Corvo desde que eu me instalara em Richmond. Ele conhecia bem demais e já estava cansado das histórias de assassinatos de traficantes, crianças que levavam armas para a escola e trocavam tiros no ônibus.
“Meritíssimo”, Coldwell disse, dramático, “gostaria de solicitar que a última declaração da senhora Scarpetta fosse retirada dos autos, uma vez que se trata de uma declaração especulativa e inflamada, indubitavelmente distante de sua especialidade.”
“Bem, não creio que a doutora tenha dito nada fora de sua especialidade, senhor Coldwell, e ela já pediu, educadamente, que o senhor a tratasse adequadamente, como doutora Scarpetta. Já estou perdendo a paciência com seus modos e artimanhas...”
“Mas, meritíssimo...”
“A bem da verdade, já tivemos a doutora Scarpetta nesta corte em inúmeras ocasiões e conheço muito bem o alcance de seus conhecimentos”, o juiz prosseguiu, em seu estilo sulista, que me fazia lembrar de alguém puxando bala de coco.
“Meritíssimo...”
“Creio que ela trata deste tipo de caso rotineiramente...”
“Meritíssimo...”
“Senhor Coldwell”, o Corvo trovejou e sua cabeça calva avermelhou, “se me interromper mais uma vez sequer, eu o prenderei por desacato, e o senhor vai passar uns dias no maldito xadrez desta comarca. Fui claro?”
“Sim, senhor.” Lucy esticava o pescoço para ver melhor; os jurados estavam todos bem alertas.
“Permitirei que as palavras exatas da doutora Scarpetta constem dos autos”, o juiz prosseguiu.
“Não tenho mais perguntas”, Coldwell disse, lacônico.
O juiz Poe concluiu a sessão com uma batida violenta do martelo, que acordou uma senhora idosa no fundo, que dormia profundamente sob um chapéu preto de palha desde o início da manhã. Assuntada, ela se empertigou e perguntou: “Quem é?”. Depois se lembrou de onde estava e começou a chorar.
“Está tudo bem, mamãe”, ouvi outra mulher dizer, quando saímos para almoçar, durante o recesso.
Antes de sair do centro, parei na Divisão de Registro do Departamento de Saúde, onde uma colega e amiga de longa data trabalhava como encarregada. Na Virgínia, ninguém pode nascer ou morrer legalmente sem a assinatura de Gloria Loving, e embora ela fosse totalmente provinciana, conhecia todos os colegas na mesma função, espalhados pelo país inteiro. Havia muitos anos, eu recorria a Gloria para verificar se alguém passara ou não por este planeta, se havia se casado, se divorciado ou sido adotado.
Fui informada de que ela estava em horário de almoço, na lanchonete do edifício Madison. Faltando quinze para a uma, encontrei Gloria sozinha na mesa, comendo salada em lata e tomando iogurte de baunilha. Na verdade, lia um livro policial grosso, um dos mais vendidos da listagem do New York Times, segundo a contracapa.
“Se eu tivesse que tomar um lanche em vez de almoçar, não me importaria nada”, falei, puxando uma cadeira.
Ela ergueu os olhos para mim e o ar inexpressivo deu lugar a uma expressão de contentamento. “Minha nossa! Puxa vida. Mas que diabos você está fazendo por aqui, Kay?”
“Trabalho do outro lado da rua, esqueceu?”
Animada, ela riu. “Quer tomar um café? Menina, você parece exausta.”
O nome de Gloria Loving definira sua personalidade desde o nascimento; ela havia crescido em harmonia com ele. Era uma mulher grande, generosa, cinquentona, profundamente interessada em todas as certidões que passavam por sua mesa. Os registros eram muito mais do que papéis e códigos nosológicos, para ela. Seria capaz de mover mundos e fundos por causa de uma certidão. Não importava de quem fosse.
“Café, não, por favor.”
“Bem, soube que você não trabalha mais do outro lado da rua.”
“Adoro quando as pessoas me despedem, só porque passo uma semana fora. Sou consultora do FBI, agora. Viajo muito.”
“Para a Carolina do Norte, suponho, a julgar pelo noticiário. Até Dan Rather andou comentando o caso daquela menina, Steiner, um dia desses. Saiu na CNN, também. Nossa, está frio aqui.”
Olhei em torno, naquela trivial lanchonete de governo poucas pessoas pareciam animadas com a vida. Muitas, debruçadas sobre as bandejas, usavam paletós e agasalhos abotoados até o pescoço.
“Eles regularam todos os termostatos em quinze graus, para poupar energia, não é uma tremenda piada?”, Gloria prosseguiu. “Temos vapor saindo da Escola de Medicina da Virgínia, e cortar o aquecimento não economiza um único watt de eletricidade.” “Creio que aqui faz menos do que quinze graus”, comentei.
“Porque a temperatura é igual à de fora, dez graus.”
“Pode atravessar a rua e usar minha sala, se quiser”, falei, com um sorriso malicioso.
“Bem, deve ser a sala mais quente da cidade. O que posso fazer por você, Kay?”
“Preciso investigar um caso de suposta SIDS, que ocorreu na Califórnia, há uns doze anos. O nome da criança é Mary Jo Steiner. Filha de Denesa e Charles.” Ela ligou os fatos imediatamente, mas seu profissionalismo barrou a curiosidade. “Sabe o nome de solteira de Denesa Steiner?”
“Não.”
“Onde, na Califórnia?”
“Também não sei”, falei.
“Tem alguma chance de descobrir? Quanto mais informação, melhor.”
“Prefiro que comece a pesquisa com o que já temos. Enquanto isso, verei o que mais posso descobrir.”
“Você disse suposta SIDS. Suspeita que talvez não tenha sido SIDS? Preciso saber, pois o caso pode ter sido registrado como outra coisa.”
“Pelo que sei, a criança tinha um ano, quando morreu. E isso me incomoda bastante. Como sabe, a idade típica para SIDS é três ou quatro meses. Acima de seis a SIDS é muito rara. Após um ano de vida, quase sempre lidamos com uma outra forma sutil de morte súbita. Portanto, a resposta é sim, o caso pode ter sido registrado de modo diferente.”
Ela brincou com o saquinho de chá. “Se fosse em Idaho, bastaria telefonar para Jane, e ela entraria com o código nosológico para SIDS e daria a resposta em noventa segundos. Mas a Califórnia tem trinta e dois milhões de habitantes. É um dos estados mais difíceis. Talvez seja preciso pedir uma consulta especial. Vamos, acompanho você. Será meu exercício de hoje.”
“O registro central fica em Sacramento?”
Passamos por um corredor deprimente, lotado de cidadãos que precisavam desesperadamente de assistência social.
“Sim. Vou ligar para lá assim que subir.”
“Aposto que conhece o encarregado, também.”
“Mas é claro”, ela disse, rindo. “Somos apenas cinquenta. Não temos com quem conversar, só mesmo uns com os outros.” Naquela noite levei Lucy ao La Petite France, onde me entreguei aos cuidados do chef Paul, que nos sentenciou a horas lânguidas de espetinhos de cordeiro marinados em frutas e uma garrafa de Château Gruaud Larose 1986. Prometi a ela crema di cioccolata eletta quando voltássemos para casa, uma deliciosa mousse de chocolate com pistache e marsala, que mantinha no freezer para emergências gastronômicas.
Mas, antes disso, seguimos de carro até Shocko Bottom e caminhamos pela calçada de pedra, sob a luz da rua, numa parte da cidade na qual, havia pouco tempo, eu não me aventuraria. Estávamos próximas do rio e o céu era azul-profundo, todo estrelado. Pensei em Benton, e depois em Marino, por motivos diferentes.
“Tia Kay”, Lucy disse quando entramos no Chettts para tomar um capuccino, “posso contratar um advogado?”
“Com que finalidade?”, perguntei, embora soubesse.
“Mesmo que o FBI não possa provar que fiz o que dizem, eles podem me prejudicar pelo resto da vida.” Nem a voz firme conseguia ocultar a dor.
“Diga o que deseja.”
“Uma fera.”
“Acharei alguém”, falei.
Não voltei para a Carolina do Norte na segunda-feira, como pretendia. Em vez disso, fui para Washington. Haveria reuniões na sede do FBI. E, acima de tudo, precisava ver um velho amigo.
O senador Frank Lord e eu havíamos frequentado a mesma escola católica em Miami, embora em épocas diferentes. Ele era bem mais velho do que eu, e nossa amizade só começou quando eu trabalhava no Departamento de Medicina Legal da comarca de Dade e ele era promotor público. Quando se tornou governador, depois senador, eu já estava longe da cidade sulista onde nascera havia muito tempo. Só nos reencontramos quando ele foi nomeado presidente do Comitê Judiciário do Senado. Lord solicitara minha ajuda como consultora, quando lutava para aprovar a lei criminal mais formidável da história do país; eu também já havia pedido a ajuda dele.
Sem que Lucy soubesse, ele fora padrinho dela, pois, sem a intervenção do senador, ela não teria conseguido nem permissão nem os créditos acadêmicos pelo estágio deste outono. Eu nem sabia como lhe dar a notícia.
Quase na hora do almoço, eu o esperava no sofá estofado de uma sala com paredes vermelhas e tapetes persas, além de um esplêndido lustre de cristal. Do lado de fora, as vozes ecoavam no corredor de mármore e um turista ou outro espiava pela porta aberta, na esperança de ver um político ou figurão no restaurante do Senado. Lord chegou na hora marcada, cheio de energia, e me abraçou rapidamente, mas com formalidade. Era um sujeito gentil, que encontrava dificuldade em demonstrar seu afeto.
“Tem batom no seu rosto”, falei, limpando a marca perto do queixo.
“Ora, deveria deixar para que meus colegas tivessem o que comentar.”
“Suspeito que eles têm muito o que comentar, de qualquer maneira.”
“Kay, que bom ver você”, ele disse, enquanto me acompanhava até o restaurante.
“Talvez não ache tão bom assim, daqui a pouco”, falei.
“Duvido muito.” Escolhemos uma mesa perto da janela cujo vitral retratava George Washington a cavalo. Não consultei o cardápio, pois nunca mudava. O senador Lord era um senhor distinto, de cabeleira farta, grisalha, e olhos azuis profundos. Alto e magro, tinha uma queda por gravatas de seda elegantes e peças antiquadas como coletes, abotoaduras, relógios de bolso e alfinetes de gravata.
“O que a traz a Washington?”, ele perguntou, estendendo o guardanapo de linho no colo.
“Preciso discutir algumas análises do laboratório do FBI”, falei.
Ele balançou a cabeça. “Está trabalhando naquele caso horrível, na Carolina do Norte.”
“Isso mesmo.”
“Aquele psicopata precisa ser detido. Acha que está lá?”
“Não sei.”
“Fico imaginando onde ele poderia estar”, Lord prosseguiu. “Provavelmente, diria que se escondeu em outro lugar, para ficar algum tempo fora de circulação. Suponho, porém, que a lógica pouco tem a ver com as decisões que essas pessoas horríveis tomam.”
“Frank”, falei, “Lucy está metida numa encrenca.”
“Já imaginava que havia algo errado”, ele disse, sem se alterar. “Está escrito na sua cara.” Ele me ouviu com atenção durante meia hora. Contei-lhe tudo e fiquei muito grata pela paciência com que me escutou. Sabia que precisaria votar várias questões, naquele dia, e que muita gente disputava minutos de seu precioso tempo.
“Você é um bom sujeito”, falei, emocionada. “E eu o decepcionei. Pedi um favor, o que raramente faço, e a situação acabou em desgraça.”
“Ela é culpada?”, ele perguntou, e mal havia tocado os legumes cozidos.
“Não sei, disse-lhe. “As provas a incriminam.” Limpei a garganta. “Ela disse que não fez nada.”
“Sempre falou a verdade?”
“Creio que sim. Por outro lado, descobri recentemente que desconhecia aspectos importantes de sua vida.”
“Coisas que perguntou?”
“Ela deixou claro que muita coisa não é da minha conta. E que não devo julgá-la.”
“Se você tem medo de estar julgando, Kay, é porque provavelmente está fazendo isso. E Lucy percebe, independentemente do que diga ou não.”
“Nunca quis ser uma pessoa que a critica e a corrige”, falei, deprimida. “Mas a mãe dela, Dorothy, minha única irmã, é dependente dos homens e egoísta demais para lidar com a filha.”
“E agora Lucy está com problemas e você acha que tem parte da culpa.”
“Não acho, conscientemente.”
“É raro termos consciência das ansiedades primitivas que se agitam sob a máscara da razão. E o único meio de bani-las é acender todas as luzes. Acha que tem força suficiente para isso?”
“Sim.”
“Gostaria de lembrar que precisará conviver com as respostas, se fizer as perguntas.”
“Sei disso.”
“Então suponhamos por um momento que Lucy seja inocente”, o senador Lord disse.
“Supor para quê?”
“Se Lucy não violou a segurança, obviamente alguém fez isso. Minha pergunta é: por quê?”
“E a minha é: como?”
Ele chamou a garçonete e pediu café. “O que precisamos determinar, na verdade, é o motivo. Qual seria o motivo de Lucy? Qual seria o motivo de qualquer outra pessoa?”
Dinheiro era a resposta mais fácil, mas não era o motivo real, em minha opinião, e expliquei isso a ele.
“Dinheiro é poder, Kay, e tudo gira em torno do poder. Nós, criaturas imperfeitas, jamais nos contentamos, por maior que seja nosso poder.”
“Sim, é a fruta proibida.”
“Claro. E todo crime deriva dele.”
“A cada dia, vemos a confirmação desta trágica verdade, carregada numa maca”, concordei.
“E o que isso nos revela, em relação ao problema que temos?” Ele pôs açúcar no café.
“Temos o motivo.”
“Claro, sem dúvida. Poder, só isso. Bem, e o que deseja que eu faça?”, meu velho amigo perguntou.
“Lucy não será acusada de nenhum crime; a não ser que fique provado que roubou alguma coisa no ERF. Mas, independentemente disso, seu futuro está arruinado pelo menos em termos de uma carreira na polícia ou qualquer outra que inclua uma investigação de seus antecedentes.”
“Já provaram que ela era a pessoa lá dentro, às três da madrugada?”
“Eles têm as provas de que precisam, Frank. E isso é um problema. Não sei se farão alguma tentativa de limpar seu nome, se ela for inocente.”
“Se?”
“Estou tentando manter a mente aberta.” Estendi a mão para pegar o café, mas concluí que a última coisa de que precisava era um estimulante. Meu coração batia depressa e as mãos tremiam.
“Posso falar com o diretor”, Lord disse.
“Só gostaria que houvesse alguém, nos bastidores, para garantir que a história fosse investigada a fundo. Na ausência de Lucy, eles são capazes de fazer corpo mole.Afinal, têm muito serviço. E ela não passa de uma estudante universitária. Por que deveriam se importar?”
“Esperava que o FBI se interessasse mais”, ele disse, com ar severo.
“Conheço a burocracia. Sempre trabalhei no serviço público.”
“Eu também.”
“Então deve entender o que digo.”
“Sem dúvida.”
“Eles querem que ela fique em Richmond até o início do próximo semestre”, falei.
“Então, este é o veredicto deles.” Ele bebeu mais um pouco de café.
“Exatamente. Para eles, é fácil. Mas, e a minha sobrinha? Ela tem apenas vinte e um anos. Seu sonho de repente foi pelos ares. O que pode fazer? Voltar para a UVA depois do Natal e fingir que não aconteceu nada?”
“Certo.” Ele tocou meu braço com uma ternura que sempre me fazia desejar que ele fosse meu pai. “Farei o possível, sem interferir indevidamente numa questão administrativa. Confia em mim?”
“Sim.”
“Enquanto isso, aceitaria um conselho pessoal?” Ele chamou a garçonete, consultando o relógio. “Está ficando tarde.” E olhou para mim. “Seu maior problema é familiar.”
“Discordo”, falei, com firmeza.
“Pode discordar o quanto quiser.” Ele sorriu para a garçonete, ao receber a conta. “Você é o máximo que Lucy já teve, em matéria de mãe. Como pretende ajudá-la a superar isso?”
“Acho que já estou ajudando, com o que fiz hoje.”
“Pensei que estivesse fazendo isso só para me ver. Por favor?” Ele chamou a garçonete. “Acho que esta conta não é nossa. Não pedimos quatro entradas.”
“Com licença. Oh, senador Lord. Lamento muito. É da outra mesa.”
“Neste caso, o senador Kennedy paga as duas.” Ele passou as duas contas. “A minha e a dele. Acredita em impostos e investimentos.” A garçonete, uma mulher avantajada, de vestido preto e avental branco, usava cabelo preso em coque. Sorriu e sentiu-se bem, de repente, por ter cometido um engano.
“Sim, senhor! Claro, vou dizer isso ao senador.”
“E diga também que deixe uma boa gorjeta, Missouri”, falou, enquanto ela se afastava. “Diga que é um pedido meu.” Missouri Rivers passava dos setenta anos, e desde sua saída de Raleigh, havia várias décadas, num trem que rumava para o Norte, ela via senadores que se banqueteavam e jejuavam, renunciavam e se reelegiam, amavam e caíam em desgraça. Sabia quando interromper e quando servir a comida, quando servir o chá e quando desaparecer. Conhecia os segredos que seus corações escondiam tão bem naquele salão maravilhoso, pois a verdadeira medida de um ser humano é o modo como trata pessoas como ela, quando ninguém está olhando. Ela adorava o senador Lord. Percebi isso pelo brilho suave em seus olhos, quando olhava para ele ou ouvia seu nome.
“Estou só tentando encorajá-la a passar algum tempo com Lucy”, ele continuou. “E não queira matar os dragões alheios, especialmente os dela.”
“Acho que ela não conseguirá matar seus dragões sozinha.”
“Estou dizendo que Lucy não precisa saber, por você, que tivemos esta conversa hoje. Ela não precisa saber que vou pegar o telefone e ajudá-la, assim que voltar à minha sala. Se alguém tiver de dizer alguma coisa, que seja eu.”
“Combinado”, falei.
Pouco depois apanhei um táxi na frente do edifício Russell e encontrei Benton Wesley onde ele disse que estaria, às cinco e quinze em ponto. Sentado num banco, no anfiteatro que fica na parte externa do prédio do FBI, e embora parecesse distraído com um livro, ele me notou muito antes que eu dissesse seu nome. Um grupo de turistas não prestou a menor atenção em nós, ao passar a pé. Wesley fechou o livro e o guardou no bolso do casaco, antes de se levantar.
“Como foi de viagem?”, ele perguntou.
“Em função da demora para chegar ao National, acabo perdendo o mesmo tempo para vir de avião que perderia se viesse de carro.”
“Veio de avião?”, ele abriu a porta de entrada do prédio para mim.
“Lucy está usando meu carro.” Ele tirou os óculos escuros e pegamos os crachás de visitantes. “Conhece o diretor do laboratório de criminologia, Jack Cartwright?”
“Já fomos apresentados.”
“Vamos passar pela sala dele, para uma reunião rápida e desagradável”, ele disse. “Depois, gostaria de levá-la a um lugar.”
“E qual seria?”
“Um lugar difícil de se ir.”
“Benton, se pretende bancar o enigmático, não terei escolha senão responder em latim, em retaliação.”
“Você sabe que odeio quando faz isso.” Inserimos os passes numa catraca e seguimos pelo corredor, até o elevador. Sempre que vinha à sede do FBI, algo me fazia lembrar do quanto não gostava dali. As pessoas raramente trocavam olhares ou sorriam, e todos, aparentemente, se ocultavam sob tons de cinza e branco. Corredores intermináveis conectavam um labirinto de laboratórios que eu jamais conseguia encontrar sozinha. Para piorar, as pessoas que trabalhavam ali tampouco sabiam o caminho.
Jack Cartwright tinha sala com vista para fora; o sol entrava pela janela, para que eu não me esquecesse dos dias esplêndidos que estava perdendo por trabalhar tanto e viver preocupada.
“Benton, Kay, boa tarde.” Cartwright apertou nossas mãos. “Por favor, sentem-se. Estes aqui são George Kilby e Seth Richards, do laboratório. Já se conheciam?”
“Não. Muito prazer”, falei a Kilby e Richards, dois jovens sérios em ternos sóbrios.
“Alguém quer café?” Ninguém queria, e Cartwright parecia ansioso para ir logo ao assunto. Era um sujeito atraente, cuja mesa organizada demonstrava de modo cabal sua objetividade e eficiência. Cada documento, envelope e recado telefônico tinha seu lugar certo, e em cima do bloco de recados havia uma caneta-tinteiro Parker antiga, prateada, que só um purista usaria. Notei que pusera vasos na janela e fotografias da mulher e das filhas na parede. Lá fora, o sol refletia nos para-brisas, conforme os carros se moviam lentamente, em congestionadas manadas. Ambulantes anunciavam sorvete, bebidas e camisetas.
“Estivemos trabalhando no caso Steiner”, Cartwright começou, “e surgiram alguns detalhes interessantes. Começarei pelo que, provavelmente, é o mais importante, a amostra de pele encontrada no freezer. Embora a análise de DNA ainda não esteja pronta, podemos afirmar com certeza que se trata de tecido humano, e que o tipo sanguíneo é O positivo. Como já sabe, a vítima, Emily Steiner, também era do tipo O positivo. O tamanho e a forma da amostra combinam com seus ferimentos, também.”
“Gostaria de saber se conseguiram determinar que tipo de instrumento cortante foi utilizado para a remoção do tecido”, falei, enquanto anotava as informações.
“Um instrumento cortante afiado, com lâmina simples.”
“Pode ter sido qualquer tipo de faca, então”, Wesley comentou.
Cartwright prosseguiu. “Pode-se ver aqui o ponto em que o instrumento penetrou no corpo, quando o atacante começou a cortar. Portanto, temos uma faca de ponta, com corte simples. É o máximo que podemos afirmar. E, por falar nisso”, ele olhou para Wesley, “não encontramos sangue humano em nenhuma das facas que nos enviou. No material recolhido na casa de Ferguson.” Wesley balançou a cabeça, imperturbável, prestando absoluta atenção.
“Muito bem, outras evidências”, Cartwright disse. “Aí a coisa começa a ficar interessante. Temos um material microscópico muito interessante retirado do corpo, do cabelo e também da sola do sapato de Emily Steiner. Encontramos fibras acrílicas azuladas, similares às do cobertor da cama dela, além de fibras verdes de algodão, similares às do casaco de veludo verde que usava no encontro de jovens, na igreja. Contudo, há outras fibras, cuja origem desconhecemos. Além disso, encontramos ácaros de poeira, do tipo que existe em qualquer lugar. Mas isto aqui não pode ter vindo de qualquer lugar.” Cartwright girou a poltrona e acionou o aparelho de vídeo no console, atrás da mesa. A tela se encheu com quatro diferentes cortes de um material celular, que me fez lembrar de favos de mel, com áreas específicas de manchas cor de âmbar.
“Vocês estão vendo”, Cartwright explicou, “cortes de uma planta chamada Sambucus simpsonii, que é simplesmente um arbusto silvestre originário das planícies costeiras e mangues do sul da Flórida. Estas manchas escuras aqui são fascinantes.” Ele apontou para as áreas manchadas. “George”, disse, olhando para um dos jovens cientistas, “isso é especialidade sua.”
“São bolsas de tanino.” George Kilby aproximou-se para participar da discussão. “Pode-se ver bem, aqui, neste corte radial.”
“E o que é uma bolsa de tanino, exatamente?”
“Um recipiente que transporta material para cima e para baixo, no caule da planta.”
“Que tipo de material?”
“Em geral, subprodutos da atividade celular, para descarte. No caso, vocês estão vendo a polpa. É a parte da planta que contém as bolsas de tanino.”
“Então, está dizendo que o material encontrado é polpa vegetal?”
O agente especial George Kilby fez que sim. “Isso mesmo. O nome comercial é polpa de madeira, embora isso não exista, tecnicamente.”
“E para que serve essa polpa?”
Cartwright encarregou-se de responder. “Ela é usada com frequência para prender pequenas peças mecânicas ou partes de joias. Por exemplo, um joalheiro coloca um brinco ou uma peça de relógio sobre um pedaço de polpa, para que não role sobre a bancada, nem seja varrido por sua manga. Na verdade, atualmente a maioria das pessoas usa isopor.”
“Havia muita polpa no corpo dela?”, perguntei.
“Uma quantidade razoável, principalmente nas áreas com sangue, onde encontramos a maior parte da polpa.”
“Se alguém quisesse esta polpa, onde a encontraria?”, Wesley indagou.
“Em Everglades. se preferisse obtê-la diretamente do arbusto”, Kilby respondeu. “Caso contrário, precisaria comprar.”
“De quem?”
“Sabemos que existe uma empresa que vende polpa em Silver Springs, em Maryland.”
Wesley olhou para mim. “Acho melhor descobrir quem conserta joias em Black Mountain.”
Comentei, com ele: “Ficaria surpresa se houvesse um palheiro em Black Mountain”.
Cartwright falou novamente. “Além das evidências microscópicas mencionadas, encontramos vestígios de insetos. Besouros, grilos, baratas – nada diferente, na verdade.
E havia vestígios de tinta branca e preta, mas não automotiva. E serragem no cabelo.”
“De que madeira?”
“Nogueira, predominantemente. Mas encontramos mogno, também.”
Cartwright olhou para Wesley, que olhava pela janela. “A pele encontrada no freezer não continha material similar, mas os ferimentos sim.”
“Significa que os ferimentos foram provocados antes que o corpo entrasse em contato com as fontes que deixaram tais vestígios”, Wesley perguntou.
“Pode-se presumir que sim”, falei. “Mas quem removeu e guardou a pele pode ter lavado o material. Devia estar ensanguentado.” “E quanto ao interior de um veículo?”, Wesley prosseguiu. “Um porta-malas?”
“É uma possibilidade”, Kilby disse.
Percebi em que direção os pensamentos de Wesley caminhavam. Gault assassinara um rapaz de treze anos, Eddie Heath, dentro de uma perua velha, na qual abundavam vestígios de todos os tipos. Resumindo, o senhor Gault, psicopata, filho de um rico fazendeiro de noz pecã da Geórgia, sentia um imenso prazer em deixar pistas que não faziam o menor sentido.
“E quanto à fita adesiva cor de laranja”, Cartwright disse finalmente, desviando-se do outro assunto, “seria correto dizer que o rolo ainda não foi encontrado?”
“Não achamos nada, ainda”, Wesley confirmou.
O agente especial Richards consultou suas anotações, quando Cartwright disse a ele: “Bem, vamos nos concentrar nisso, pois acredito que seja o elemento mais importante do caso.” Richards começou a falar, animado. Como todos os técnicos na ciência criminológica, ele era apaixonado por seu trabalho. O arquivo de referência do FBI para fitas adesivas continha mais de cem tipos, para fins de identificação, caso alguma fosse utilizada num crime. Na verdade, o uso da variedade prateada para fins malévolos era tão comum que, honestamente, eu não conseguia passar por um rolo, numa loja de ferramentas ou armazém, sem que as preocupações com as questões domésticas dessem lugar à recordação dos horrores.
Já havia recolhido pedaços de pessoas explodidas com bombas presas com fita adesiva. Removera a fita que prendia vítimas de assassinos sádicos e de corpos atados com ela a blocos, antes que fossem jogados em rios e lagos. Não conseguiria contar as vezes em que a retirara da boca de pessoas que não puderam gritar, até entrarem no necrotério. Pois só ali os corpos falavam livremente. Só ali alguém se importava com cada uma das terríveis violências cometidas.
“Nunca vi uma fita deste tipo antes”, Richards disse. “E, devido ao fio de alta resistência da base, posso dizer com certeza que a pessoa não comprou esta fita numa loja comum.”
“Como pode ter certeza disso?”
“Trata-se de um tipo industrial, pois a trama tem sessenta e dois fios por cinquenta e seis, em comparação ao formato típico de vinte por dez que se encontra por dois dólares, à venda no Walmart ou Safeway. O tipo industrial custa até dez dólares o rolo.” “Sabe por quem a fita foi fabricada?”, perguntei.
“Shuford Mills, em Hickory, na Carolina do Norte. São um dos maiores fabricantes de fitas adesivas deste tipo no país. A marca mais conhecida é a Shurtape.”
“Hickory fica apenas noventa quilômetros a leste de Black Mountain”, falei.
“Conversou com alguém da Shuford Mills?”, Wesley perguntou a Richards.
“Sim. Eles estão tentando obter as informações que precisamos. Mas já sabemos algumas coisas. A fita alaranjada era especial feita pela Shuford Mills sob encomenda para um cliente preferencial, no final dos anos oitenta.”
“O que é um cliente preferencial?”, perguntei.
“Alguém que deseja uma fita especial e faz um pedido mínimo de quinhentas caixas. Portanto, pode haver centenas de tipos de fita adesiva que não veremos jamais, a não ser que apareça num caso como esse.”
“Pode me dar um exemplo de quem costuma encomendar fitas adesivas especiais desse tipo?”, disse, tentando avançar mais.
“Conheço equipes de automobilismo que fazem isso”, Richards respondeu. “Por exemplo, a fita usada por Richard Petty em seus boxes é azul e branca. A de Daryl Waltrip, amarela. A Shuford Mills também recebeu uma encomenda, há alguns anos, de um empreiteiro que se cansou dos furtos das fitas, que custam caro. O pessoal da obra carregava os rolos para casa. Pediu que fizessem uma fita roxa para ele. Bem, se o sujeito usar uma fita roxa para consertar um cano em casa, ou o vazamento na piscina de plástico do filho, é óbvio que a roubou.”
“Poderia ser esta a finalidade da fita cor de laranja? Impedir que os funcionários a furtassem?”
“Possivelmente”, Richards disse. “E, ainda por cima, é antichama.”
“Isso é comum?”, Wesley perguntou.
“Muito raro”, Richards respondeu. “Só consigo associar fita adesiva antichama a submarinos e aviões, e nos dois casos não há necessidade da cor laranja. Pelo menos, é o que eu acho.”
“Por que alguém precisa de uma fita cor de laranja berrante?”, perguntei.
“Esta é a questão-chave”, Cartwright disse. “Quando penso num tom laranja assim, lembro de cones de trânsito e caça.”
“Vamos voltar à questão de como o assassino prendeu a senhora Steiner e a filha”, Wesley sugeriu. “O que mais pode nos contar a respeito?”
“Encontramos vestígios de um possível verniz para móveis nas pontas das fitas”, Richards disse. “Além disso, a sequência com que a fita foi removida do rolo não combina com a sequência em que foi aplicada nos pulsos e tornozelos da mãe. Isso quer dizer que o assassino cortou os pedaços que pretendia usar, e provavelmente os prendeu na beira de um móvel. Quando começou a prender a senhora Steiner, a fita estava pronta para uso, já cortada.”
“Só que ele a usou fora de ordem”, Wesley disse.
“Sim”, Richards confirmou. “Nós a numeramos conforme a sequência usada para atar mãe e filha. Gostaria de dar uma olhada?”
Dissemos que sim.
Wesley e eu passamos o resto da tarde na Unidade de Análise de Materiais, entre cromatógrafos gasosos, espectrômetros de massa, calorímetros para análise diferencial e outros instrumentos intimidantes, capazes de distinguir materiais e pontos de fusão. Permaneci ao lado de um detector portátil de explosivos, enquanto Richards discorria sobre a estranha fita adesiva usada para prender Emily e a mãe. Ele explicou que utilizara ar quente para desenrolar a fita recebida da polícia de Black Mountain. Contara dezessete pedaços, cujo comprimento variava de vinte a cinquenta centímetros. Ele os montara em bases de vinil grosso transparente e numerara os segmentos de dois modos diferentes – para mostrar a sequência com que a fita havia sido cortada do rolo e a sequência com que fora empregada para amarrar as vítimas.
“A sequência usada na mãe não faz o menor sentido”, ele disse. “Este pedaço aqui deveria ter sido o primeiro. Mas foi o último. E, como este saiu em segundo do rolo, deveria ter sido usado em segundo lugar, e não em quinto.”
“Na menina, por sua vez, a fita foi usada em sequência. Sete pedaços, para prender os pulsos, na ordem em que foram tirados do rolo.”
“Era mais fácil controlar a menina”, Wesley comentou.
“Pode ser”, falei, e perguntei a Richards: “Encontrou resíduos de verniz na fita recuperada do corpo?”.
“Não”, ele retrucou.
“Isso é interessante”, falei, e o detalhe me incomodou.
Deixamos as marcas de sujeira para o final. Foram identificadas como hidrocarbonetos, um nome pedante para graxa. Isso não nos ajudava em nada, pois graxa, infelizmente, é apenas graxa. E a graxa na fita poderia ter vindo de um carro. Poderia ter vindo de um caminhão Mack do Arizona.
12
Wesley e eu fomos para o Red Sage às quatro e meia, cedo demais para beber. Mas nenhum dos dois se sentia muito bem.
Era difícil para mim fitar seus olhos, agora que estávamos novamente a sós; desejava que ele mencionasse o que ocorrera entre nós naquela noite. Não queria acreditar que só havia sido importante para mim.
“Aqui tem chope artesanal, feito no próprio bar”, Wesley disse, enquanto eu estudava o cardápio. “Muito bom, para quem aprecia cerveja.”
“Só gosto de cerveja no alto verão, morta de sede, depois de trabalhar duas horas debaixo do sol, acompanhando uma pizza”, disse, um pouco intrigada que ele não conhecesse esse detalhe a meu respeito. “Na verdade, jamais gostei e não gosto de cerveja. Só bebo quando não há outra coisa; não desce bem.”
“Bem, não precisa ficar brava por causa disso.”
“Certamente não estou brava.”
“Parece brava. E não consegue olhar diretamente para mim.”
“Estou bem.”
“Ganho a vida estudando as pessoas, e me parece que você não está nada bem.”
“Você ganha a vida estudando psicopatas”, falei. “Não estuda médicas-legistas que respeitam a lei e pretendem apenas relaxar depois de um dia longo, cansativo, no qual pensou apenas em crianças assassinadas.”
“É muito difícil conseguir um lugar neste restaurante.”
“Dá para perceber. Muito obrigado pelo esforço monumental.”
“Precisei usar minha influência.”
“Não duvido.”
“Bem, então vamos tomar vinho no jantar. Que surpresa, aqui tem Opus One. Talvez uma taça faça com que você se sinta melhor.”
“Custa caro demais, para uma imitação de Bordeaux. Além disso, é muito pesado para bebericar. Não sabia que jantaríamos aqui. Preciso pegar o avião daqui a duas horas. Prefiro uma taça de Cabernet, apenas.”
“Como quiser.”
Mas naquele momento eu não sabia o que desejava ou gostava.
“Preciso ir a Asheville amanhã”, Wesley prosseguiu. “Se preferir passar a noite aqui, poderemos ir juntos.”
“Por que precisa voltar lá?”
“Nossa assistência foi requisitada antes que Ferguson aparecesse morto e Mote sofresse o ataque de coração. Creia em mim, a polícia de Black Mountain tinha motivos para entrar em pânico. Eles são sinceros, e deixei claro que nós faríamos o que fosse possível para colaborar. Se for necessário, convocarei outros agentes.” Wesley costumava descobrir o nome do garçom e chamá-lo pelo nome durante a refeição. Era Stan para cá, Stan para lá, enquanto Wesley e ele discutiam os vinhos e os pratos. Era a única coisa besta que Wesley fazia, seu único maneirismo impróprio, e testemunhar sua atitude, naquela tarde, me irritou profundamente.
“Sabe, isso não vai fazer o garçom se apaixonar por você, Benton. Na verdade, parece meio paternalista, o tipo de coisa que só um locutor de rádio faria.”
“O quê?” Ele não entendeu nada.
“Chamar o garçom pelo nome. E dessa maneira insistente, como costuma fazer.”
Ele me encarou.
“Bem. não estou querendo ser implicante”, prossegui, piorando tudo. “Só mencionei isso como amiga, porque ninguém mais o faria, e achei que deveria saber. Uma amiga tem de ser honesta, eu acho. Uma amiga de verdade.
“Já acabou?”, ele perguntou.
“Sim.” Forcei um sorriso.
“Então, agora, poderia me dizer o que a incomoda de verdade, ou prefere que eu corra o risco de tentar adivinhar?”
“Não há absolutamente nada que me incomode de verdade”, falei, e comecei a chorar.
“Kay, puxa vida”, ele disse, oferecendo seu guardanapo.
“Também tenho um”, falei.
“É por causa da outra noite, não é?”
“Talvez você possa me explicar a que noite se refere. Talvez outras noites sejam comuns, para você.” Wesley tentou reprimir a risada, mas não conseguiu. Por alguns minutos, nenhum dos dois falou nada, pois ele ria, e eu não sabia se ria ou continuava chorando.
Stan, o garçom, voltou com as bebidas. Bebi vários goles, antes de falar novamente.
“Tudo bem”, disse. “Lamento muito. Estou cansada, este caso é horrível, Marino e eu não estamos nos entendendo, Lucy se meteu numa encrenca.”
“Seria o suficiente para fazer qualquer um chorar”, Wesley disse, e percebi que se incomodara por não ter sido incluído na lista das coisas que estavam dando errado.
Fiquei perversamente satisfeita, ao notar seu constrangimento.
“Bem, é verdade, estou perturbada com o que aconteceu na Carolina do Norte”, acrescentei.
“Arrepende-se?”
“Agora, de que adianta eu me arrepender ou não?”
“Seria bom para mim, se dissesse que não se arrepende.”
“Não posso dizer isso”, falei.
“Então está arrependida?”
“Não, não estou.”
“Então não se arrepende?”
“Benton, tenha dó, esqueça isso.”
“De jeito nenhum”, ele disse. “Eu também estava lá.”
“Como é?”, perguntei, confusa.
“Naquela noite? Lembra-se? Na verdade, foi no meio da madrugada. O que fizemos exigia duas pessoas. Você não foi a única a pensar no assunto por vários dias. Por que não pergunta se eu me arrependo?” “
Nunca”, falei, “você é casado.”
“Se eu cometi adultério, você também cometeu. Duas pessoas”, ele repetiu.
“Meu avião sai daqui a uma hora. Preciso ir.”
“Deveria ter pensado nisso antes de começar esta conversa. Não pode sair no meio de algo assim.”
“Claro que posso.”
“Kay?” Ele olhou dentro dos meus olhos e baixou a voz. Estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha.
Escolhi um apartamento no Willard, para aquela noite. Wesley e eu conversamos durante muito tempo e resolvemos as coisas o suficiente para repetir, racionalmente, o mesmo pecado. Quando saímos do elevador, no saguão, na manhã seguinte, estávamos carinhosos e delicados um com o outro, como se tivéssemos acabado de nos conhecer e descoberto muitas afinidades. Dividimos o táxi até o aeroporto National, e pegamos o avião até Charlotte, onde passei uma hora conversando com Lucy pelo telefone.
“Sim”, falei, “estou procurando alguém, e já tomei outras providências”.
“Preciso fazer alguma coisa já”, ela disse.
“Por favor, tenha paciência.”
“Não. Sei quem fez isso comigo, e quero agir.”
“Quem foi?”, perguntei, assustada.
“Quando chegar a hora, saberá.”
“Lucy, quem fez isso com você? Por favor, do que está falando?”
“Não posso, por enquanto. Antes preciso fazer uma coisa. Quando volta para casa?”
“Não sei. Ligarei de Asheville assim que tomar pé da situação por lá.”
“Posso usar o seu carro, então?”
“Claro.”
“Não vai precisar dele por uns dois dias, certo?”
“Creio que não. Mas, diga, o que está querendo fazer?”
A conversa me incomodava cada vez mais.
Wesley e eu pegamos um avião a hélice que fazia tanto barulho que não conseguíamos conversar durante a viagem. Ele dormiu, enquanto eu permaneci quieta, de olhos fechados, pálpebras vermelhas por dentro, pois o sol entrava pela janela. Deixei que meus pensamentos se soltassem, devaneando livremente. Muitas imagens surgiram, de cantos esquecidos da mente. Vi meu pai e o anel de ouro branco que usava na mão esquerda, onde deveria haver uma aliança, pois perdera a sua na praia, e não tinha recursos para comprar outra.
Meu pai não frequentara a faculdade, e me lembro de que seu anel de formatura tinha uma pedra vermelha. Sonhava que fosse um rubi, pois éramos muito pobres. Imaginava que poderia vendê-lo, para que tivéssemos uma vida melhor, e lembro-me do desapontamento que senti quando ele me disse que o anel não valia a gasolina para levá-lo até o sul de Miami. No modo como me contou aquilo, algo fez com que eu concluísse que ele não havia realmente perdido a aliança.
Ele a vendera, quando se viu sem alternativa, mas contar isso a mamãe a desolaria. Não pensava naquilo havia muitos anos, e suponho que minha mãe ainda guardava o anel em algum lugar, a não ser que o tivesse enterrado com ele, o que era provável. Não saberia dizer com certeza, tinha apenas doze anos quando ele morreu.
Enquanto ia e voltava a muitos lugares, via cenas silenciosas de pessoas que surgiam sem serem convidadas. Estranho. Não sabia qual a importância, por exemplo, da presença da irmã Martha, minha professora na terceira série, que subitamente apareceu, escrevendo na lousa. Ou de uma menina chamada Jennifer, saindo pela porta, enquanto o granizo caía e rolava no pátio da igreja, como um milhão de minúsculas bolas de gude esbranquiçadas.
Aquelas figuras do meu passado surgiam e sumiam. Quase adormeci, mas senti uma dor tão grande que me dei conta da presença de Wesley. Nossos braços se tocavam, de leve. Quando me concentrei no ponto exato de contato entre nós, senti o perfume da lã de seu paletó aquecido pelo sol, e imaginei dedos longos em mãos elegantes, que me remetiam a pianos, canetas-tinteiro e conhaque em taças apropriadas, à beira da lareira.
Sei que foi exatamente neste momento que percebi estar apaixonada por Benton Wesley. Como havia perdido todos os homens que amara antes dele, não abri os olhos até que aeromoça nos pediu para erguer o encosto para o pouso.
“Alguém nos espera?”, perguntei a ele, como se não tivesse pensado em outra coisa, durante a hora de voo.
Ele me olhou, por um momento, sem pressa. Seus olhos eram da cor de cerveja, quando a luz incidia de certa maneira. Depois uma sombra de preocupação lhes devolveu os tons de avelã salpicados de dourado; quando seus pensamentos se tornaram insuportáveis ele apenas desviou a vista.
“Suponho que vamos voltar ao Travel-Eze”, comentei quando ele apanhou a valise e soltou o cinto de segurança antes do momento permitido. A aeromoça fingiu que não viu, pois Wesley sabia impor sua presença. Chegava a amedrontar as pessoas.
“Você conversou bastante com Lucy, em Charlotte?”, perguntou.
“Sim.” Passamos por uma biruta quase desinflada.
“E então?” Seus olhos se encheram de luz novamente, quando ele virou o rosto para o sol.
“Bem, ela acha que sabe quem está por trás do que ocorreu a ela.”
“O que quer dizer com quem está por trás?” Ele franziu o cenho.
“O significado da expressão é óbvio”, falei. “A não ser que você presuma que ninguém está por trás de nada, porque Lucy é culpada.”
“Seu polegar foi scanneado às três da madrugada, Kay.”
“Isso eu já sei.”
“E também está claro que o polegar não poderia ter sido scanneado sem a presença física do polegar, do braço e do resto do corpo, naquele momento identificado pelo computador.”
“Sei bem quais são as aparências”, falei.
Ele pôs os óculos escuros, e nos levantamos. “Estou apenas repassando as aparências, para que não as esqueça”, ele disse em meu ouvido, enquanto me seguia pelo corredor.
Poderíamos ter mudado do Travel-Eze para um hotel mais confortável em Asheville. Mas o local de hospedagem não parecia importante para nenhum de nós, quando encontramos Marino no restaurante Coach House, famoso por razões não muito explícitas.
Senti algo estranho no ar, desde o momento em que o policial de Black Mountain nos apanhou no aeroporto e nos deixou no estacionamento do restaurante, afastando-se silenciosamente. O Chevrolet sofisticado de Marino estava parado perto da entrada, e ele ocupava, sozinho, uma mesa de canto, de frente para o caixa, como fazem sempre que possível os que trabalham na polícia.
Ele não se levantou quando entramos; apenas nos observou friamente, mexendo um copo alto de chá gelado.
Senti algo sinistro, como se o Marino com quem eu trabalhava havia tantos anos, o sujeito despojado que odiava cerimônias e poderosos, nos concedesse uma audiência.
Os modos frios e cautelosos de Wesley indicavam que ele sabia haver algo fora de lugar. Para começar, Marino usava um terno escuro indubitavelmente novo.
“Pete”, Wesley disse, puxando a cadeira.
“Oi”, falei, puxando outra.
“Aqui eles fazem um frango frito de primeira”, Marino disse, sem olhar para nenhum de nós. “E saladas especiais, se não quiserem comida pesada”, acrescentou, aparentemente pensando em mim.
A garçonete serviu água, entregou os cardápios e descreveu as especialidades da casa, antes que tivéssemos a chance de dizer uma só palavra. Quando ela se afastou, com nossos pedidos apáticos, a tensão na mesa era quase insuportável.
“Dispomos de uma série de informações técnicas que você vai considerar interessantes”, Wesley começou. “Mas, antes, por que não nos passa as novidades?” Marino, que parecia mais infeliz do que nunca, estendeu o braço para pegar o chá, mas o devolveu à mesa sem beber nada. Procurou o maço de cigarro no bolso, antes de pegá-lo em cima da mesa. Não falou antes de começar a fumar; o fato de não me encarar era preocupante. Mostrava-se distante, como se não o conhecêssemos. Quando o encontrava assim, já sabia o que isso significava. Marino estava com problemas. Ele trancara as janelas que davam para sua alma para evitar que víssemos o que se passava lá dentro.
“No momento, o que temos de mais importante”, Marino começou, exalando a fumaça e batendo a cinza nervosamente, “é o tal zelador da escola de Emily Steiner. Bem, o nome do sujeito é Creed Lindsey, branco, trinta e quatro, trabalha na escola como zelador há dois anos. Antes disso, exercia a mesma função na biblioteca pública de Black Mountain e, antes, numa escola primária, em Weaverville. Vale lembrar que na escola de Weaverville, durante a época em que o elemento trabalhou lá, ocorreu um caso de atropelamento e fuga de um menino de dez anos. Suspeitaram do envolvimento de Lindsey...”
“Espere um pouco”, Wesley disse.
“Um caso de atropelamento?”, perguntei. “O que quer dizer com suspeitaram do envolvimento de Lindsey?”
“Espere”, Wesley disse. “Espere um pouco. Falou com Creed Lindsey?”
Olhou para Marino – que o encarou apenas por um momento. “Já estou chegando lá. O sujeito desapareceu. No instante em que soube de nossa intenção de interrogá-lo não sei quem andou abrindo a boca, mas se pegar quem foi eu mato –, ele sumiu. Não foi trabalhar, não voltou mais para casa.” Ele acendeu outro cigarro. Quando a garçonete surgiu subitamente a seu lado, com outro chá, ele a dispensou com um movimento de cabeça, como se costumasse frequentar o local e deixar ótimas gorjetas.
“Fale sobre o atropelamento”, pedi.
“Há cerca de quatro anos, em novembro, um menino de dez anos andava de bicicleta e foi atropelado por um desgraçado que fez uma curva aberta demais. O menino morreu na hora, e a polícia só descobriu que uma picape branca passou pela área do acidente em alta velocidade. Havia tinta branca na calça jeans do menino também.”
“Bem, Creed Lindsey tinha uma picape velha, Ford. Sabemos que costumava passar pela rua onde ocorreu o acidente e que comprava bebida no dia do pagamento. Por coincidência, o dia em que o menino foi atropelado.” Marino não parava de se mexer, enquanto falava. Wesley e eu estávamos cada vez mais incomodados.
“No entanto, quando a polícia o procurou, nada. Sumira. Desapareceu da área por cinco semanas – disse que estava visitando um parente doente ou qualquer cascata do gênero. Na volta, a maldita picape era azul feito um céu de primavera. Todo mundo sabe que o desgraçado matou o menino, mas não há provas.”
“Certo.” A voz de Wesley ordenou a Marino que se calasse. “Muito interessante, talvez o zelador esteja envolvido no atropelamento. Mas aonde isso nos leva?”
“Para mim, parece óbvio.”
“Bem, Pete, para mim não é. Esclareça.”
“Lindsey gosta de crianças, é isso. Ele sempre procura empregos que o colocam em contato com elas.”
“Eu poderia dizer que ele só serve para esse tipo de serviço, que não sabe fazer mais nada, além de varrer o chão.”
“Que nada. Poderia cuidar da mercearia, da casa de algum velho, sei lá. Mas todos os lugares onde trabalhou estavam lotados de crianças.”
“Tudo bem. Vamos aceitar isso. Então, ele varre o chão de lugares onde há crianças. E o que mais?” Wesley estudava Marino, que parecia disposto a agarrar-se à sua teoria com unhas e dentes.
“Então, ele matou o primeiro menino há quatro anos, embora não esteja afirmando que fez isso de propósito. Mas fez, e mentiu, e sente uma tremenda culpa. Fica meio pirado, por causa do terrível segredo que é obrigado a carregar. É assim que outras coisas começam, nas pessoas.”
“Outras coisas?”
“Ele se sente culpado em relação às crianças. Olha para elas todos os dias, quer se aproximar, ser perdoado, desfazer tudo. Sei lá, porra. Mas em seguida perde o controle das emoções, e começa a observar a menina. Gosta dela, quer fazer amizade. Talvez a veja na noite em que está caminhando para casa, de volta da igreja. Talvez converse com ela. E não encontra dificuldade em descobrir onde ela mora. A cidade é muito pequena. Ele não consegue se controlar.” Marino bebeu um gole de chá e acendeu outro cigarro, sem parar de falar.
“Ele a sequestra porque pretende, se conseguir ficar com a menina por algum tempo, convencê-la de que não pretendia machucar ninguém; é um bom sujeito, afinal. Deseja que ela seja sua amiga. Deseja ser amado, pois se ela o amar, poderá desfazer os atos terríveis que cometeu no passado. Mas nada sai como foi planejado. Ela não coopera. Apavora-se. No final da história, os fatos não combinam com a fantasia, ele pira e a mata. Então, fez de novo. Matou a segunda criança.”
Wesley ia começar a falar, mas a comida chegou, numa bandeja marrom grande. A garçonete, uma senhora de pernas grossas e cansadas, nos serviu lentamente. Queria agradar o sujeito importante de fora da cidade, que usava um terno novo azul-escuro.
A garçonete esbanjou “sim, senhor” e “pois não”, e pareceu muito contente quando elogiei a salada, que não pretendia comer. Perdera o apetite que poderia ter antes de chegar à Coach House, que devia ser famosa por alguma coisa, estou segura. Mas não conseguia olhar para as tirinhas de presunto, peru e queijo cheddar, nem, principalmente, para os ovos cozidos. Na verdade, sentia náuseas.
“Mais alguma coisa?”
“Não, obrigada.”
“Isso parece estar uma delícia, Dot. Poderia trazer mais um pouco de manteiga?”
“Sim, senhor, já vou trazer. E quanto à senhora? Quer mais um pouco de molho?”
“Não precisa, obrigada. Assim está perfeito.”
“Obrigada. Vocês são muito gentis e apreciamos muito a visita. Sabe, temos um bufê aos domingos, depois da igreja.”
“Não nos esqueceremos disso”, Wesley disse, sorrindo.
Eu sabia que teria de deixar pelo menos cinco dólares de gorjeta, para ser perdoada por não tocar na comida.
Wesley estava tentando pensar no que dizer a Marino; eu nunca testemunhara um confronto assim entre eles.
“Acho que estou curioso para saber por que você abandonou completamente sua teoria original”, Wesley disse.
“Que teoria?” Marino tentou cortar o filé com o garfo. Não conseguiu, e estendeu a mão para pegar a pimenta e o molho.
“Temple Gault”, Wesley disse. “Pelo jeito, desistiu de procurar por ele.”
“Não afirmei nada disso.”
“Marino”, falei, “e quanto a essa história de atropelamento?” Ele ergueu a mão para chamar a garçonete. “Dot, acho que vou precisar de uma faca afiada. O atropelamento é importante porque o sujeito tem um histórico violento. O pessoal daqui não gosta dele, por causa disso e também porque ele prestava muita atenção em Emily Steiner. Portanto, estou apenas contando o que está acontecendo.”
“E como sua teoria explica a presença de pele humana no freezer de Ferguson?”, perguntei. “E, por falar nisso, o tipo sanguíneo confere com o de Emily. Ainda não recebemos o resultado do DNA.”
“Não explica porra nenhuma.” Dot voltou com uma faca de serrinha e Marino agradeceu. Serrou o filé. Wesley mordiscou o linguado ensopado, olhando longamente para o prato, enquanto seu colega policial falava.
“Escutem, pelo que sabemos, Ferguson matou a menina. E, claro, não podemos eliminar a hipótese de que Gault esteja na cidade. Não estou sugerindo isso.”
“E o que mais sabemos a respeito de Ferguson?”, Wesley perguntou. “Sabe que as digitais encontradas na calcinha pertencem a Denesa Steiner?”
“Isso é porque a calcinha foi roubada da casa dela, na noite em que o criminoso entrou e raptou a menina. Lembram-se? Ela disse que ouviu ruído de alguém mexendo nas gavetas, quando estava presa no closet. Depois, suspeitou que faltavam algumas peças de roupa.”
“Isso e a pele no freezer sem dúvida despertam meu profundo interesse pelo sujeito”, Wesley disse. “Alguma possibilidade de contato entre ele e Emily, no passado?” Interferi. “Em função da profissão, ele certamente tinha motivos para saber a respeito dos casos na Virgínia, sobre Eddie Heath. Pode ter tentado fazer com que o assassinato de Steiner ficasse parecido com outro. Ou teve a ideia ao descobrir o que ocorrera na Virgínia.”
“Ferguson era meio maluco”, Marino disse, serrando outro pedaço de carne. “Isso posso afirmar com certeza; mas ninguém por aqui parece saber de mais nada.”
“Há quanto tempo ele trabalhava para o SBI?”, perguntei.
“Quase dez anos. Antes, era da polícia rodoviária estadual, e antes do exército.”
“Divorciado?”, Wesley perguntou.
“Acha que existe alguém que não seja?” Wesley ficou quieto.” Divorciado duas vezes. Uma ex-mulher no Tennessee, outra em Enka. Quatro filhos, crescidos, espalhados por aí.”
“O que a família tem a dizer a respeito dele?”, perguntei.
“Sabe, eu não estou por aqui há seis meses.” Marino pegou o molho Al novamente. “Só consigo conversar com algumas pessoas por dia. Mesmo assim, se der sorte e encontrá-las na primeira ou segunda tentativa telefônica. Como vocês dois não estavam aqui, e esta história sobrou inteira para mim, espero que não levem para o lado pessoal se eu disser que um dia tem apenas vinte e quatro horas, diabos.”
“Pete, compreendemos como é”, Wesley disse, em seu tom mais razoável. “De qualquer modo, estamos aqui por isso mesmo. Percebemos a necessidade de realizar investigações aprofundadas. Talvez mais do que calculei inicialmente, pois nada se encaixa como deveria. Pelo jeito, este caso segue em três direções diferentes e não vejo muitas ligações entre elas, exceto que há necessidade de descobrir tudo a respeito de Ferguson. Temos provas que apontam para ele. A pele no freezer. A lingerie de Denesa Steiner.”
“Aqui tem torta de cereja”, Marino disse, olhando para a garçonete. Ela esperava, perto da porta da cozinha, pelo menor sinal.
“Quantas vezes jantou aqui?”, perguntei.
“Preciso comer em algum lugar, não é, Dot?” Ele levantou a voz quando a garçonete sempre alerta aproximou-se.
Wesley e eu pedimos café.
“Nossa, sua salada não estava boa, querida?” Ela estava sinceramente incomodada.
“Muito boa”, falei, para tranquilizá-la. “Mas eu não estava com muita fome.”
“Quer que eu embrulhe, para levar?” “Não, obrigada.” Quando ela se foi, Wesley conseguiu explicar a Marino o que sabíamos sobre as análises de laboratório. Conversamos por algum tempo sobre a polpa e a fita adesiva; quando Marino terminou a torta de cereja e recomeçou a fumar, já havíamos esgotado o assunto. Marino não tinha a menor ideia do significado da polpa ou da fita laranja, assim como nós.
“Droga”, disse. “Isso tudo é estranho demais. Não descobri nada que se encaixe nisso.”
“Bem”, Wesley disse, já meio distraído, “a fita é tão rara que alguém da cidade pode tê-la visto antes. Caso seja daqui, claro. Se não for, acredito que conseguiremos localizar sua origem.”
Ele empurrou a cadeira. “Pode deixar isso comigo”, falou, pegando a conta.
“Eles não aceitam American Express aqui”, Marino disse.
“Uma e cinquenta”, Wesley comentou, levantando-se. “Vamos nos encontrar no hotel às seis e armar um plano.”
“Odeio lembrar”, falei, “mas se trata de um motel, e não de um hotel. E nós dois estamos sem carro, no momento.”
“Posso deixá-los no Travel-Eze. Seu carro já foi providenciado. Quanto a você, Benton, podemos dar um jeito também, se acha que precisa de carro”, Marino disse, como se fosse o novo chefe de polícia de Black Mountain ou, talvez, até o prefeito.
“Nem sei o que preciso, no momento”, ele disse.
13
O detetive Mote fora transferido para um quarto particular. Estava em condição estável, mas sob vigilância, quando fomos visitá-lo no dia seguinte. Sem conhecer a cidade direito, recorri à loja de lembranças do hospital, onde havia pouca variedade de arranjos de flores a escolher, por trás de um balcão refrigerado.
“Detetive Mote?” Hesitei, à porta.
Ele estava reclinado na cama, cochilando, com a tevê em alto volume.
“Oi”, falei, um pouco mais alto.
Ele abriu os olhos e, por um instante, não teve a menor ideia de quem eu era. Depois se recordou e sorriu, como se sonhasse comigo todos os dias.
“Ora, doutora Scarpetta, que surpresa. Não imaginava que ainda estivesse na cidade.”
“Lamento quanto às flores. Não tinha muitas opções na loja daqui.” Coloquei o buquê desanimado de margaridas e crisântemos no vaso verde grande. “Que tal colocá-las aqui?” Deixei o arranjo em cima da mesa e senti uma certa tristeza ao constatar que suas flores eram ainda mais patéticas que as minhas.
“Tem uma cadeira ali, se puder ficar alguns minutos.”
“Está se sentindo bem?”, perguntei.
Ele estava pálido e magro, os olhos pareciam enfraquecidos, fixos no lindo dia de outono, do outro lado da janela.
“Bem, estou tentando dançar conforme a música, como dizem”, falou. “Difícil saber como vai ser daqui para a frente, mas ando pensando em pescar e trabalhar com madeira, coisas que aprecio muito. Sabe, há anos sonho em construir um chalé em algum lugar. E entalhar bengalas de tília.”
“Detetive Mote”, disse, hesitante, pois não queria perturbá-lo, “alguém de seu departamento veio visitá-lo?”
“Claro”, ele respondeu, sem desviar a vista do céu azul-claro. “Alguns colegas deram uma passadinha ou ligaram.”
“E o que acha dos desdobramentos da investigação do caso Steiner?”
“Nada bons.”
“Por quê?”
“Bem, não estou lá, para começo de conversa. Além disso, parece que cada um está correndo para um lado. Isso me preocupa um pouco.”
“Esteve envolvido no caso desde o início”, falei. “Deve conhecer Max Ferguson muito bem.”
“Acho que não tão bem quanto eu imaginava.”
“Sabe que ele é um dos suspeitos?”
“Sei. Sei de tudo.” O sol que entrava pela janela tornava seus olhos tão pálidos que pareciam feitos de água. Piscou várias vezes e limpou as lágrimas provocadas pela luz ou pela emoção. Disse mais. “Sei também que estão procurando Creed Lindsey, o que é uma vergonha para os dois.”
“Como assim?”, perguntei.
“Bem, doutora Scarpetta, Max não está exatamente aqui para se defender.”
“Não está”, concordei.
“E Creed não saberia se defender, se estivesse.”
“E onde ele está?”
“Soube que fugiu para algum lugar, e não foi pela primeira vez. Ele fez a mesma coisa quando aquele menino foi atropelado e morreu. Todos achavam que Creed era culpado até o pescoço. Então, desapareceu e voltou com o rabo entre as pernas. De vez em quando, costumava ir para o que chamavam de Bairro Negro, e beber até cair.”
“Onde ele mora?”
“Perto da estrada Montreat, lá em Rainbow Mountain.”
“Lamento, mas não faço ideia de onde fica.”
“Quanto chegar no portão de Montreat, pegue a estrada que sobe a montanha, pela direita. Antigamente só moravam caipiras por lá. Mas nos últimos vinte anos muitos se mudaram para outros locais ou morreram, e gente como Creed tomou conta.” Ele parou, por um minuto, com ar distante e pensativo. “Pode-se ver a casa dele da estrada. Ele tem uma máquina de lavar velha na varanda, joga a maior parte do lixo no mato, atrás da casa.” Ele suspirou. “Na verdade, Creed não é exatamente um sujeito brilhante.” “Como assim?”
“Ele morre de medo de tudo que não entende, e não consegue entender coisas como as que estão ocorrendo à sua volta, no momento.”
“Ou seja, não acredita que ele esteja envolvido na morte da filha de Steiner, tampouco”, falei.
O detetive Mote fechou os olhos, e o monitor acima da cama registrava sua pulsação, normal, em 66. Parecia muito cansado. “Não acredito, doutora, nem por um minuto. Mas existe um motivo para sua fuga, se quer saber, e não consigo tirar isso da cabeça nem por um segundo.”
“Disse que ele estava apavorado. Em minha opinião, parece um bom motivo.”
“Minha intuição diz que há algo mais. Mas não adianta ficar remoendo isso. Não posso fazer absolutamente nada. A não ser que enfileirasse todo mundo aí fora, chamasse um a um e fizesse as perguntas que gostaria de fazer. E isso, com certeza, não acontecerá.”
Não queria lhe perguntar sobre Marino, mas precisava. “E quanto ao capitão Marino? Ouviu falar muito nele?” Mote me encarou, com firmeza. “Ele veio aqui outro dia com uma garrafa de Wild Turkey. Está em meu armário, ali.” Ele tirou o braço das cobertas e apontou. Permanecemos em silêncio por um momento.
“Sei que não deveria beber”, ele acrescentou.
“Quero que obedeça às ordens dos médicos, tenente Mote. Precisa aprender a conviver com tudo isso. E não fazer as coisas que o prejudicam.”
“Sei que preciso largar de fumar.”
“Pode ser feito. Nunca imaginei que conseguiria, por exemplo.”
“Sente falta?”
“Não sinto falta da maneira como me sentia.”
“Não gosto da maneira como me sinto, em função de qualquer vício. Mas não é por aí.”
Sorri. “Sim, sinto falta. Mas com o tempo vai ficando mais fácil.”
“Disse a Pete que não queria vê-lo aqui, do mesmo jeito que eu, doutora Scarpetta. Mas ele é cabeça-dura.” A lembrança de Mote caído no chão, azulado, enquanto eu tentava salvar sua vida, voltou para me assombrar. Achava que seria apenas uma questão de tempo, até que Marino passasse por uma experiência similar. Pensei no filé que havia comido no almoço, nas roupas novas e no comportamento estranho. Ele parecia decidido a não me conhecer mais, e o único modo de conseguir isso seria transformar-se em alguém que eu não reconheceria.
“Sem dúvida, Marino envolveu-se nisso até o pescoço. O caso exige muito de todos nós”, falei, desolada.
“A senhora Steiner não pensa em outra coisa, mas não posso culpá-la por isso. Se fosse comigo, creio que eu também poria tudo que tenho para resolver o caso.”
“Ela pôs tudo que tem?”
“Ela tem muito dinheiro”, Mote disse.
“Era o que eu imaginava”, falei, pensando no carro.
“E tem ajudado muito na investigação.”
“Ajudado?”, perguntei. “De que modo, exatamente?”
“Carros. Por exemplo, o que Pete está dirigindo. Alguém tem de pagar por tudo isso.”
“Pensei que os comerciantes da região haviam doado tudo.”
“Bem, devo admitir que a atitude da senhora Steiner estimulou outras contribuições. Ela fez com que todos pensassem no caso e sentissem pena dela. Ninguém quer ver o filho sofrendo o mesmo destino.”
“Realmente, não se parece com nada que eu tenha visto em vinte e dois anos de trabalho na polícia. Bem, jamais vi um caso parecido, a bem da verdade.”
“Ela comprou o carro que estou dirigindo?” Com muito esforço, controlei-me para não erguer a voz ou revelar meu nervosismo.
“Ela doou os dois carros e os comerciantes deram o resto. Luzes, rádios, scanners.”
“Detetive Mote”, falei, “quanto dinheiro a senhora Steiner deu a seu departamento?”
“Uns cinquenta mil, calculo.”
“Cinquenta?”, repeti, incrédula. “Cinquenta mil dólares?”
“Isso mesmo.”
“E ninguém se incomodou?”
“Até onde eu sei, ela não é diferente da companhia de energia, que nos deu um carro há alguns anos, porque precisava de alguém de olho num transformador. E do Quick Stop, ou 7-Eleven, que oferecem café para que passemos lá de vez em quando. Dá certo, se ninguém tentar tirar proveito.” Seus olhos se mantinham fixos em mim, as mãos por cima da coberta. “Calculo que as regras sejam mais rígidas numa cidade grande como Richmond.”
“Qualquer doação ao Departamento de Polícia de Richmond, acima de vinte e cinco mil dólares, precisa ser aprovada por um comitê de regulamentação e ética”, falei.
“Nem sei o que é”, ele disse.
“Um comitê que analisa o caso e o apresenta à Câmara Municipal.”
“Parece meio complicado.”
“E precisa ser, por motivos óbvios.”
“Bem, é claro”, Mote disse, e acima de tudo soava cansado, desanimado por não mais poder confiar em seu corpo.
“Poderia dizer a que os cinquenta mil dólares se destinavam, além da aquisição de vários veículos?”
“Precisamos de um chefe de polícia. Eu era o candidato natural, mas minhas chances são mínimas, para ser honesto. Mesmo que possa voltar a algum tipo de atividade, chegou a hora de termos alguém experiente na cidade. As coisas mudaram muito.” “Entendo”, comentei, e quanto mais a situação se esclarecia, mais me incomodava. “Você precisa descansar.”
“Pode vir quando quiser.” Ele apertou minha mão com tanta força que senti dor. Percebi um desespero profundo, que ele mesmo não saberia explicar, caso tivesse consciência de sua existência.
Quase morrer é saber que um dia se morre. A pessoa nunca mais se sente a mesma, em relação a nada.
Antes de voltar ao Travel-Eze fui até o portal de Montreat, entrei e virei, enquanto tentava pensar no que fazer. Havia pouco movimento. Quando desviei para o acostamento e estacionei, os passantes provavelmente presumiram que eu não passava de mais uma turista perdida, ou em busca da casa de Billy Graham. Ali, onde estacionara, tinha uma visão perfeita do bairro onde Creed Lindsey morava. Na verdade, via a casa e a velha máquina de lavar roupa branca na varanda.
Rainbow Mountain deve ter sido batizada numa tarde de outono como aquela. As folhas exibiam tons variados de vermelho, laranja e amarelo, exuberantes sob o sol, profundos na sombra que se projetava sobre os vales e reentrâncias, conforme o sol se punha. Dentro de uma hora não haveria mais luz. Não teria resolvido subir a estradinha de terra, se não visse um fio de fumaça sair da chaminé de pedra da casa de Creed.
Voltei à pista, cruzei para o outro lado e segui pela via estreita sem calçamento, com as duas marcas nítidas da passagem de veículos. A poeira vermelha formava nuvens atrás do meu carro, conforme eu subia o morro e entrava num bairro assustador. Pelo jeito, a estrada terminava no alto da montanha. Nos dois lados havia trailers arredondados e casas precárias, feitas de troncos ou tábuas sem pintura. O telhado de algumas era de lona plastificada, o de outras de zinco. Vi poucos veículos, em geral picapes velhas, e uma perua pintada num estranho tom de verde, parecido com licor de menta.
Na casa de Creed Lindsey, uma pequena clareira sob as árvores indicava o local onde costumava estacionar. Parei ali e desliguei o motor. Detive-me observando aquele barraco e sua varanda torta, mal cuidada. Pensei ter visto uma luz acesa lá dentro, ou pode ter sido a luz do sol na janela. Enquanto pensava no sujeito que vendia palitos de dente apimentados a crianças e apanhara flores do campo para Emily nos intervalos de suas tarefas na escola, como tirar o lixo e varrer o chão, temi ter tomado uma atitude insensata.
Afinal de contas, minha intenção era, em princípio, apenas ver onde Creed Lindsey vivia para fazer comparações posteriores com o ocorrido na igreja presbiteriana e no lago Tomahawk. Tendo resolvido algumas dúvidas, agora surgiam outras. Não poderia simplesmente fugir de um fogo aceso na lareira de uma casa na qual não deveria haver ninguém. Não conseguia parar de pensar no que Mote dissera e, principalmente, nas Fireballs que encontrara. No fim das contas, essas coisas constituíam meu principal motivo para conversar com o homem chamado Creed.
Bati na porta por muito tempo, acreditando ter ouvido movimento lá dentro, sentindo que me observavam. Mas ninguém atendeu, meus chamados foram ignorados. A janela empoeirada à esquerda não tinha tela. Do outro lado, vi um trecho de assoalho de madeira escura e parte de uma cadeira de madeira, iluminada por uma pequena luminária sobre a mesa.
Pensei que a lâmpada acesa não significava necessariamente que alguém estivesse em casa. Mas sentia o cheiro de fumaça e havia uma pilha alta de lenha recém-cortada na varanda. Bati novamente e a porta de madeira cedeu com a pressão, como se não fosse preciso muita força para abri-la.
“Oi”, falei. “Tem alguém em casa?” Só o som das árvores sacudidas pelas rajadas de vento me respondeu. O ar estava frio, na sombra, e notei um leve odor de apodrecimento, decadência, deterioração. No mato, em volta daquele barraco de dois cômodos e teto enferrujado, com antena de tevê torta, espalhava-se o lixo de vários anos, parcialmente oculto pelas folhas. Vi papel velho, embalagens plásticas de leite, garrafas de refrigerante jogadas fora havia tanto tempo que os rótulos estavam desbotados. Concluí, portanto, que o dono da casa abandonara seu estranho hábito de espalhar o lixo em volta da casa, pois não encontrei nada recente. Distraí-me momentaneamente com minhas deduções, até pressentir alguém atrás de mim. Senti olhos nas costas, com tanta intensidade que os pelos do braço se arrepiaram. Virei-me. A menina foi uma estranha aparição na estrada, perto do parachoque traseiro do meu carro. Parou, imóvel como um veado ressabiado, a me encarar no crepúsculo. O cabelo castanho-escuro e fosco emoldurava seu rosto pálido e os olhos ligeiramente vesgos. Não se mexia. Soube, ao olhar para as pernas longas e magras, que sumiria de vista num minuto, se eu fizesse qualquer movimento ou som capaz de intimidá-la. Ela passou um longo tempo a me olhar e eu a encarava de volta, como se aceitasse a inevitabilidade daquele estranho encontro. Quando ela mudou o pé de apoio e se moveu um pouco, parecendo respirar e piscar novamente, ousei falar.
“Gostaria de saber se você pode me ajudar”, disse, cordialmente, sem medo.
Ela enfiou as mãos nuas nos bolsos de um casaco de lã escuro, que era vários números menor. Usava calça caqui amarrotada, enrolada até o tornozelo, e bota de couro marrom gasto. Calculei que estivesse no início da adolescência, mas era difícil determinar isso.
“Sou de fora”, tentei outra vez, “e preciso muito conversar com Creed Lindsey. É o homem que mora aqui. Quero dizer, acho que ele vive nesta casa. Pode me ajudar?”
“O que quer com ele?” Sua voz era aguda, me fez lembrar das cordas de um banjo. Sabia que eu encontraria dificuldade em compreender qualquer coisa que me dissesse.
“Preciso da ajuda dele”, falei lentamente.
Ela deu alguns passos, aproximando-se, sem tirar os olhos de cima de mim. Eram claros e rajados, como os de um gato siamês.
“Acho que ele sabe que tem um monte de gente procurando por ele”, falei, com o máximo de calma. “Mas eu não estou. Não sou que nem os outros. Não vim aqui para fazer nenhum mal a ele.”
“Como você chama?”
“Meu nome é doutora Kay Scarpetta”, respondi.
Ela me encarou com mais intensidade, como se eu tivesse acabado de revelar meu segredo mais curioso. Calculei que ela sabia o que era um doutor, mas talvez nunca tivesse encontrado um do sexo feminino.
“Sabe o que é um doutor, um médico?”, perguntei.
Ela olhou para meu carro, como se ele negasse o que eu havia acabado de dizer.
“Alguns médicos ajudam a polícia, quando as pessoas se machucam. É isso que eu faço”, falei. “Ajudo a polícia daqui. Por isso, tenho um carro assim. A polícia me emprestou, enquanto estou aqui, porque não sou da cidade. Venho de Richmond, na Virgínia.” Minha voz perdeu o ímpeto, enquanto ela olhava silenciosamente para o carro, e senti um desânimo enorme, achando que havia falado demais, e perdido a chance de contato. Jamais encontraria Creed Lindsey. Fora incrivelmente tola ao imaginar, por um momento sequer, que poderia me comunicar com gente que não conhecia e que estava longe de conseguir compreender.
Estava a ponto de entrar no carro e ir embora quando a menina se aproximou. Surpreendi-me quando ela pegou minha mão e, sem dizer nada, seguiu até a janela do carro.
Apontou para a maleta médica preta, no banco do passageiro.
“Aquela é minha maleta médica”, falei. “Quer que eu a pegue?”
“Isso, pega ela”, a menina disse.
Abrindo a porta, obedeci. Pensei que poderia ser mera curiosidade, mas ela me puxou pela rua de terra por onde viera. Sem dizer nada, guiou-me morro acima, a mão seca e áspera como espiga de milho a me segurar com força, decidida.
“Pode me dizer seu nome?”, perguntei, enquanto subíamos em passo acelerado.
“Deborah.” Os dentes estavam em mau estado, ela estava encovada e envelhecida antes do tempo, uma condição típica da desnutrição crônica que frequentemente se observava numa sociedade na qual a comida nem sempre era a solução. Calculei que a família de Deborah, como tantas que eu encontrava nas cidades maiores, subsistia com a dieta rica em calorias e pobre em nutrientes que se podia adquirir com os vales alimentícios.
“Deborah de quê?”, perguntei, quando nos aproximamos de uma casa de madeira minúscula. Parecia ter sido construída com sobras de uma marcenaria, coberta de plástico preto e um revestimento que imitava tijolo.
“Deborah Washburn.”
Segui-a pelos degraus bambos de madeira que levavam a um alpendre no qual havia apenas lenha e um trenó turquesa desbotado. Ela abriu uma porta que não via tinta havia tanto tempo que perdera a cor, e me puxou para dentro. A razão de sua missão de repente ficou clara.
Dois rostos envelhecidos demais para a pouca idade olharam para cima, de um colchão estendido no chão, no qual havia também um homem sentado com um trapo empapado de sangue no colo, tentando costurar um ferimento no polegar direito. No chão, a seu lado, vi um jarro de vidro cheio de um líquido translúcido, que dificilmente seria água. Ele conseguira dar alguns pontos com agulha e linha de costura. Por um momento, trocamos olhares sob a luz mínima de uma lâmpada solitária pendurada no teto.
“Ela é médica”, Deborah anunciou.
Ele me encarou por mais um tempo, enquanto o sangue pingava do dedo; calculei sua idade entre vinte e trinta anos. O cabelo era comprido e preto, caindo sobre os olhos, e a pele pálida, doentia, como se nunca tomasse sol. Alto, um tanto barrigudo, cheirava a gordura, suor e álcool.
“Onde a encontrou?”, o sujeito perguntou à menina.
As outras crianças assistiam à televisão, distraídas. Pelo que pude observar, era o único aparelho elétrico da casa, além da lâmpada.
“Tava procurando você”, Deborah disse a ele. Concluí, atônita, que o sujeito só podia ser Creed Lindsey.
“Por que a trouxe aqui?” Ele não parecia particularmente irritado ou temeroso.
“Você tá machucado, dói.”
“Como se cortou?”, perguntei, abrindo a maleta.
“Com a faca.” Estudei o ferimento, de perto. Havia um pedaço substancial de pele deslocado.
“Os pontos não resolveriam nada, neste caso”, falei, enquanto apanhava um antisséptico, ataduras e outros medicamentos. “Quando se cortou?”
“Esta tarde. Estava tentando tirar a tampa de uma lata.”
“Lembra-se de quando tomou uma antitetânica pela última vez?”
“Não.”
“Precisa tomar uma injeção amanhã. Se tivesse o remédio aqui, poderia aplicar, mas não tenho.” Ele me observou, enquanto eu procurava toalhas de papel. Na cozinha não havia nada, exceto pelo fogão de lenha e uma bomba na pia, que provia a água. Lavei as mãos e as sacudi para secar. Pedi a ele que se ajoelhasse no colchão e peguei sua mão. Era calosa, musculosa, com unhas sujas e tortas.
“Vai doer um pouco”, falei. “Não tenho nada para diminuir a dor, portanto vá em frente, se tiver alguma coisa.” Olhei para o jarro de líquido translúcido.
Ele também o olhou e estendeu a mão boa para pegá-lo. Tomou um trago da bebida, um destilado de milho ou coisa que o valha, que encheu seus olhos de lágrimas. Esperei que bebesse mais, antes de limpar a ferida e prender o pedaço no lugar com ataduras e esparadrapo. Quando terminei, ele já havia relaxado. Cobri tudo com gaze, desejando ter mais condições de ajudar.
“Onde está sua mãe?”, perguntei a Deborah, enquanto guardava as embalagens e a agulha na maleta, pois não encontrei lata de lixo.
“Está no Burger Hut.”
“Ela trabalha lá?” Ela fez que sim, enquanto uma das irmãs se levantava para mudar de canal.
“Você é Creed Lindsey?”, perguntei ao paciente, como quem quer puxar conversa.
“Por que pergunta?” Ele falou no mesmo tom, e percebi que não era tão estúpido quanto julgava o tenente Mote.
“Preciso falar com ele.”
“Por quê?”
“Porque não acredito que ele tenha algo a ver com o que aconteceu a Emily Steiner. Mas acho que ele sabe de algo e pode nos ajudar a descobrir quem foi.”
Ele estendeu a mão para pegar a bebida. “E o que ele poderia saber?”
“Gostaria que ele me respondesse isso”, falei. “Desconfio que ele gostava de Emily e que ficou muito chateado com o que aconteceu. Também acho que ele se afasta das pessoas quando fica chateado, como está fazendo agora, principalmente se perceber que pode ter problemas.” Ele olhou para o jarro e o balançou lentamente.
“Ele não fez nada a ela, naquela noite.”
“Naquela noite?”, perguntei. “Quer dizer, na noite em que ela desapareceu?”
“Ele a viu andando com o violão e reduziu a velocidade da picape para dizer oi. Mas não fez nada. Não deu carona para ela nem nada.”
“Ele ofereceu carona?”
“Não poderia oferecer, sabendo que ela não ia aceitar.”
“Por que não?”
“Ela não gostava dele. Não gostava de Creed, apesar dos presentes.” Seu lábio inferior tremia.
“Soube que ele era muito gentil com ela. Dava-lhe flores na escola. E balas.”
“Ele nunca deu bala, porque ela não ia aceitar.”
“Não aceitaria?”
“Não. Nem do tipo que mais gostava. Mas vi quando ela aceitou dos outros.”
“Fireballs?”
“Wren Maxwell troca essas balas por palitos de dente, e eu vi quando ele deu balas a ela.”
“Ela estava sozinha, enquanto caminhava para casa com o violão?”
“Estava.”
“Onde?”
“Na rua. A pouco mais de um quilômetro e meio da igreja.”
“Então ela não foi pela trilha que contorna o lago?”
“Ela foi pela rua. Estava escuro.”
“E onde estavam as outras crianças do grupo de jovens?”
“Estavam atrás dela, as que eu vi. Só vi umas três ou quatro. Ela estava andando depressa e chorando. Mas não parou de andar, foi em frente. Eu a acompanhei, por algum tempo, pois achei que algo poderia estar errado.”
“Por que pensou isso?”
“Ela chorava.”
“Viu quando ela entrou em casa?”
“Vi.”
“Sabe onde fica a casa?”
“Sei onde é.”
“E depois, o que aconteceu?”, perguntei, e sabia muito bem por que a polícia o procurava. Compreendia as suspeitas, e que elas só aumentariam, se descobrissem o que estava revelando a mim.
“Eu a vi entrar em casa.”
“Ela o viu?”
“Não. Às vezes não acendo o farol.”
Minha nossa, pensei. “Creed, entende por que a polícia está preocupada?” Ele bebeu mais um gole e seus olhos se iluminaram um pouco. Eram de uma coloração incomum, mistura de verde e castanho.
“Não fiz nada a ela”, ele disse, e acreditei em suas palavras.
“Só queria observá-la, porque viu que estava aborrecida”, falei. “E gostava da menina.”
“Ela estava aborrecida, percebi isso.” Ele bebeu mais.
“Sabe onde ela foi encontrada? Onde o pescador a achou?”
“Sei.”
“Esteve naquele local?” Ele não respondeu.
“Você visitou o local e deixou balas para ela. Depois que já estava morta.”
“Muita gente passou por lá. Eles queriam olhar. Mas ela não foi.”
“Ela quem? Está se referindo à mãe?”
“Ela não quis ir.”
“Alguém o viu por lá?”
“Ninguém.”
“Você deixou as balas lá. De presente para ela.” Seus lábios tremiam, e os olhos se encheram de lágrimas. “Deixei Fireballs.” Ele gaguejou, ao falar.
“Por que lá? Por que não no túmulo?”
“Não queria que ninguém me visse.”
“Por quê?”
Ele olhou para o jarro e não viu necessidade de explicar. Eu sabia o motivo. Podia imaginar os nomes com que as crianças da escola o chamavam, quando varria os pátios e corredores. Imaginava os risinhos e zombarias, as terríveis chacotas que fariam se Creed se mostrasse carinhoso com alguma delas. E ele se mostrara carinhoso em relação a Emily, e ela gostava de Wren.
Estava muito escuro quando saí; Deborah me acompanhou até o carro como uma gata silenciosa. Meu coração literalmente doía, como se tivesse forçado a musculatura do peito. Queria dar dinheiro a ela, mas sabia que não deveria.
“Faça com que ele tome cuidado com a mão e a mantenha limpa”, disse-lhe, ao abrir a porta do Chevrolet. “E precisa levá-lo ao médico. Tem algum médico por aqui?” Ela fez que não, com a cabeça.
“Peça a sua mãe para chamar um. Alguém do Burger Hut pode dar a indicação. Vai fazer isso?” Ela me olhou e pegou minha mão.
“Deborah, você pode me procurar no Travel-Eze. Não tenho o número, mas consta na lista telefônica. Aqui está meu cartão, para que se lembre do nome.”
“Não tenho telefone”, ela disse, olhando para mim atentamente, sem soltar minha mão.
“Sei disso. Mas, se precisar ligar, pode ir até um telefone público, não é?”
Ela fez que sim. Um carro subia o morro.
“Minha mãe chegou.”
“Quantos anos você tem, Deborah?”
“Onze.”
“Vai à escola pública, aqui em Black Mountain?”, perguntei, chocada ao pensar que a menina tinha a idade de Emily.
Ela fez que sim.
“Conhecia Emily Steiner?”
“Ela estava na frente.”
“Não cursavam o mesmo ano?”
“Não.” Ela largou minha mão.
O carro, um Ford velho caindo aos pedaços, com um farol apagado, passou roncando. Vi que uma mulher nos olhava de relance. Jamais esquecerei o ar exausto daquele rosto macilento, o cabelo preso com redinha, a boca afundada. Deborah saiu correndo atrás da mãe, e eu fechei a porta.
Tomei um banho demorado, ao retornar ao motel, e pensei em comer alguma coisa. Mas quando examinava o cardápio do serviço de quarto, minha mente começou a devanear e resolvi ler um pouco. O telefone me assustou, acordando-me às dez e meia.
“Sim?”
“Kay?”
Era Wesley.
“Preciso falar com você. É muito importante.”
“Vou até seu quarto.” Fui diretamente para lá e bati na porta.
“É Kay”, falei.
“Espere”, sua voz soou do outro lado. Uma pausa, e a porta se abriu. Seu rosto confirmava que algo de muito ruim acontecera.
“O que foi?”, perguntei, logo ao entrar.
“Lucy.” Ele fechou a porta, e deduzi, pelo estado da mesa, que passara a maior parte da tarde ao telefone. Vi anotações espalhadas por todos os lados. A gravata, em cima da cama. A camisa, desabotoada.
“Ela sofreu um acidente”, ele disse.
“Como é?” Meu sangue gelou.
Ele fechou a porta, e estava muito perturbado.
“Ela está bem?” Eu não conseguia nem pensar.
“Aconteceu durante a tarde, na estrada 95, pouco ao norte de Richmond. Ao que parece, ela esteve em Quantico, saiu para comer e estava voltando para casa. Almoçou no Outback, conhece? A churrascaria australiana, no norte da Virgínia? Sabemos que parou em Hanover, na loja de armas – Green Top –, e depois que saiu de lá sofreu o acidente.” Ele andava de um lado para outro, enquanto falava.
“Benton, ela está bem?” Eu não conseguia nem me mexer.
“Ela está no hospital MCV. Foi muito sério, Kay.”
“Ai, meu Deus.”
“Consta que ela saiu da pista, perto da saída para Atlee/Elmont, e perdeu o controle do carro. Quando viram seu nome nos documentos, o pessoal da polícia rodoviária ligou para o seu departamento, do local do acidente, e Fielding ficou encarregado de localizá-la. Ele me ligou porque não queria que você recebesse a notícia pelo telefone. Bem, a questão é que ele é médico, e temia sua reação, quando soubesse do acidente de Lucy...”
“Benton!”
“Lamento.” Ele tapou o fone com a mão. “Puxa vida, sou péssimo para essas coisas... Bem, quando se trata de você. Ela se cortou um pouco e bateu a cabeça. Na verdade, é um milagre que esteja viva. O carro capotou várias vezes. Seu carro. Ficou destruído. Eles precisaram cortar a lataria para removê-la e a levaram para o hospital de helicóptero. Para ser honesto, eles pensaram que não sobreviveria, pelo tipo de acidente. É inacreditável que esteja bem.” Fechei os olhos e sentei-me na beirada da cama.
“Ela tinha bebido?”, perguntei.
“Sim.”
“Conte o resto.”
“Ela foi autuada por dirigir embriagada. Fizeram o exame de dosagem alcoólica no hospital, e era alta. Não sei exatamente quanto.”
“Ninguém se machucou?”
“Nenhum outro veículo foi envolvido.”
“Graças a Deus.” Ele sentou a meu lado e massageou meu pescoço. “Chega a ser surpreendente que ela tenha conseguido ir tão longe, antes do acidente. Havia bebido muito, antes mesmo do jantar.” Ele pôs o braço no meu ombro e me puxou para mais perto. “Já reservei sua passagem de avião.”
“O que ela foi fazer no Green Top?”
“Comprar uma arma. Uma Sig Sauer P230. Foi encontrada no carro.”
“Preciso voltar a Richmond imediatamente.”
“O próximo avião sai amanhã de manhã, Kay. Precisa esperar.”
“Sinto frio”, falei.
Ele tirou o paletó e cobriu meus ombros. Comecei a tremer. O terror sentido ao ver a expressão de Wesley e ao perceber a tensão em sua voz me fez lembrar a noite em que telefonou para contar a respeito de Mark.
Soube, no instante em que escutei a voz de Wesley na linha, que a notícia era muito ruim. Ele começou a falar sobre a explosão de uma bomba em Londres, contou que Mark estava passando exatamente no local quando ocorreu o atentado, não tinha nada a ver com ele, não era destinada a ele, mas que ele havia morrido. O sofrimento foi uma tempestade que me levou de roldão. Senti um desespero que jamais havia sentido, nem mesmo quando meu pai morreu. Não reagi, na hora da morte de meu pai, era pequena; minha mãe chorava, tudo parecia perdido.
“Vamos resolver tudo”, Wesley disse, enquanto servia uma bebida para mim.
“O que mais sabe?”
“Mais nada, Kay. Tome, vai ajudar.” Ele me passou um scotch puro.
Se houvesse um cigarro no quarto, eu o teria fumado. Teria encerrado o período de abstinência, deixado de lado minha decisão.
“Sabe quem é o médico que está cuidando dela? Onde se cortou? O air-bag funcionou?” Ele começou a massagear minha nuca novamente, sem responder às perguntas, pois já dissera que não sabia mais nada. Bebi o scotch depressa, precisava dele.
“Vou para lá de manhã, então”, falei.
Seus dedos subiram até meus cabelos, foi maravilhoso.
Fechei os olhos e contei o que me ocorrera de tarde. Falei da visita ao hospital, da conversa com o tenente Mote. Falei das pessoas de Rainbow Mountain, da menina magra e de Creed, que vira Emily Steiner na rua, e não na trilha do lago, depois do encontro de juventude na igreja.
“Foi triste, pois vi a cena, enquanto ele contava”, prossegui, pensando no diário. “Ela ia ver Wren antes do encontro de jovens, mas ele não apareceu, é claro. Depois a ignorou completamente. Por isso, Emily não esperou até o final do encontro. Saiu antes dos outros.”
“Ela andava depressa porque estava magoada, humilhada, e não queria que ninguém soubesse disso. Creed só estava passando por ali, na picape, por acaso. Ele a viu e quis garantir que a menina chegasse em casa bem. Percebeu que estava aborrecida. Ele gostava dela, de longe, assim como ela gostava de Wren, de longe. E agora está morta. É horrível. É tudo sobre pessoas que amam outras que não as amam. Sobre a transmissão da mágoa.”
“Assassinato é sempre assim, no fundo.”
“Onde está Marino?”
“Não sei.”
“O que ele está fazendo é errado. Ele sabe muito bem.”
“Creio que se envolveu com Denesa Steiner.”
“Sem dúvida.”
“Posso imaginar o que houve. Ele estava sozinho, não tem muita sorte com as mulheres, na verdade não conseguiu se entender com ninguém desde que Doris o deixou. Denesa Steiner estava desolada, carente, e soube tocar seu ego masculino ferido.”
“Além disso, tem bastante dinheiro.”
“Sim.”
“Como é possível? Pensei que o ex-marido fosse professor primário.”
“Pelo que sei, a família dele tinha muito dinheiro. Fortuna feita com petróleo, ou algo assim, no Oeste. Você precisará revelar os detalhes de seu encontro com Creed Lindsey. Ele vai ficar numa situação difícil.” Eu sabia disso.
“Posso imaginar como se sente a respeito, Kay. Mas nem sei se consigo pensar do mesmo modo. O que me incomoda é saber que Creed a seguiu na picape, com o farol apagado. E que ele sabia onde a menina morava, andava de olho nela, na escola. E também me incomoda muito saber que ele visitou o local onde o corpo foi encontrado e deixou as balas.”
“Por que a pele estava no freezer de Ferguson? Como isso se encaixa na história de Creed Lindsey?”
“Ou Ferguson guardou a pele lá ou alguém fez isso. É simples. E não creio que tenha sido Ferguson.”
“Por que não?”
“Não combinava com o perfil dele. Sabe disso muito bem.”
“E Gault?” Wesley não respondeu. Olhei para ele, pois aprendera a sentir seus silêncios. Era capaz de segui-los como se fossem frias paredes de uma caverna. “Você não está me contando tudo”, disse.
“Recebemos um telefonema de Londres. Acreditamos que tenha atacado novamente, e desta vez foi lá.”
Fechei os olhos. “Meu Deus, não.”
“Um menino, agora. Catorze anos. Morto nos últimos dias.”
“Mesmas características de Eddie Heath?”
“Marcas de mordida removidas. Tiro na cabeça, corpo à vista. Muito parecido.”
“Isso significa que Gault não está em Black Mountain”, falei, e minhas dúvidas aumentaram.
“No momento, não podemos saber o que significa. Gault pode estar em qualquer lugar. No entanto, não sei se foi ele. Há muitas semelhanças entre os casos de Eddie Heath e Emily Steiner. Mas há muitas diferenças também.”
“Há diferenças porque este caso é diferente”, falei. “E não creio que Creed Lindsey tenha posto a pele no freezer de Ferguson.” “Bem, não sabemos por que a pele estava lá. Talvez alguém a tenha deixado na porta da casa. Ferguson a encontrou assim que chegou do aeroporto. Guardou-a no freezer, como faria qualquer investigador competente. Só que não viveu o suficiente para contar isso a alguém.”
“Está sugerindo que Creed esperou até que Ferguson voltasse para casa, e levou a pele?”
“Estou sugerindo que a polícia vai considerar a possibilidade de Creed a ter levado.”
“Por que ele agiria assim?”
“Remorso.”
“Enquanto Gault faria isso para nos perturbar.”
“Exatamente.”
Permaneci em silêncio, por um momento. Depois, disse: “Se Creed fez tudo isso, como explica a digital de Denesa Steiner na calcinha que Ferguson usava?”.
“Ele tinha um fetiche, usar roupas femininas durante sua fantasia erótica. Pode tê-la roubado. Entrava e saía da casa, enquanto trabalhava no caso de Emily. Não seria difícil pegar uma peça de lingerie. E usar a calcinha enquanto se masturbava reforçava as fantasias.”
“Realmente pensa isso?”
“Não sei o que penso realmente. Só estou lembrando essas hipóteses a você porque serão cogitadas. Sei o que Marino vai pensar. Creed Lindsey é suspeito. Na verdade, o fato de ter contado que havia seguido Emily Steiner até a casa dela nos dá um motivo para revistar a casa e a picape dele. Se encontrarmos algo, e se a senhora Steiner achar que ele é parecido, ou fala de modo semelhante ao homem que invadiu sua casa naquela noite, Creed será acusado de assassinato.”
“E quanto às análises do laboratório?”, perguntei. “Descobriram mais alguma coisa?”
Wesley levantou-se e ajeitou a fralda da camisa, enquanto falava. “Identificamos a origem da fita adesiva laranja. Vem da penitenciária de Attica, em Nova York.
Ao que parece, um administrador da prisão cansou-se do extravio sistemático de fitas adesivas para reparos e encomendou um tipo especial, menos fácil de furtar.”
“E escolheu o tom mais berrante de laranja, a mesma cor das roupas dos detentos. Como a fita era usada dentro da penitenciária para remendar colchões, por exemplo, era essencial que fosse antichama. Shuford Mills fabricou um lote do material – cerca de oitocentas caixas – em 1986.”
“Isso é muito estranho.”
“Quanto aos resíduos nos pedaços utilizados para amarrar Denesa Steiner, são de um verniz semelhante ao existente na cômoda do quarto dela. Isso já era de se esperar, uma vez que ela foi amarrada no quarto. Portanto, a informação é praticamente inútil.” “Gault nunca esteve preso em Attica, não é?”, perguntei.
Wesley estava atando a gravata, na frente do espelho.
“Não. Mas isso não exclui a possibilidade de ter conseguido a fita por outros meios. Alguém pode ter dado a ele.
Ele era muito amigo do guarda da penitenciária estadual, quando ficou preso em Richmond – o guarda que acabou matando depois. Suponho que vale a pena investigar isso, ver se alguns rolos de fita não foram parar lá.”
“Você vai a algum lugar?”, perguntei, quando ele enfiou um lenço limpo no bolso de trás, e a pistola no coldre do cinto.
“Vou levar você para jantar.”
“E se eu não quiser ir?”
“Você quer.”
“Você parece muito seguro de si.” Ele se debruçou para me beijar, tirando o paletó dos meus ombros. “Não quero deixar você sozinha, no momento.” Vestiu o paletó, e estava muito elegante, a seu modo sóbrio.
Encontramos um restaurante de caminhoneiros, exageradamente iluminado, que oferecia de tudo, desde Tbone até comida chinesa. Preferi sopa oriental com ovo e arroz cozido, pois não me sentia muito bem. Sujeitos usando jeans e botas empilhavam costelas, carne de porco, camarão e molhos alaranjados espessos em seus pratos, olhando para nós como se fôssemos de Oz. Meu biscoito da sorte avisava para tomar cuidado com os falsos amigos, enquanto o de Wesley prometia casamento.
Marino nos aguardava no motel, quando voltamos, pouco depois da meia-noite. Contei-lhe o que eu sabia e ele não gostou nem um pouco das novidades.
“Preferia que você não tivesse ido lá”, ele disse. Estávamos no quarto de Wesley. “Não é sua função interrogar pessoas.”
“Estou autorizada a investigar qualquer morte violenta, sem restrições, e a interrogar quem eu quiser. É ridículo que você tenha coragem de dizer uma coisa dessas, Marino. Trabalhamos juntos há anos.”
“Formamos uma equipe, Pete”, Wesley disse. “Essa é a ideia do grupo. Por isso estamos aqui. Perdoe-me, não quero ser chato, mas não gosto que fumem em meu quarto.”
Ele guardou o maço e o isqueiro no bolso. “Denesa me contou que Emily costumava se queixar de Creed.”
“Ela sabe que a polícia o procura?”, Wesley perguntou.
“Ela não está na cidade”, ele respondeu, evasivamente.
“Para onde foi?”
“A irmã dela está doente. Mora em Maryland, e ela resolveu passar uns dias lá. Insisto, Creed assustava Emily.”
Recordei-me de Creed no colchão, costurando a ferida. Vi seu olhar perdido, o rosto pálido. Não me surpreendia que uma menina sentisse medo dele.
“Há muitas perguntas que não foram respondidas”, falei.
“É, e outras tantas que já foram”, Marino retrucou.
“Achar que Creed Lindsey cometeu este crime não faz sentido”, falei.
“Faz mais sentido a cada dia.”
“Será que ele tem televisão em casa?”, Wesley disse.
Pensei por um minuto. “Embora as pessoas não tenham muita coisa por lá, têm televisão.”
“Creed pode ter visto o noticiário sobre Eddie Heath na televisão. Vários programas jornalísticos e sensacionalistas acompanharam o caso.”
“Porra, as notícias sobre aquele caso passaram no mundo inteiro”, Marino disse.
“Vou dormir”, falei.
“Não se prenda por mim.” Marino olhou para nós dois, ao se levantar da cadeira. “Não quero atrapalhar ninguém.”
“Já estou farta de suas insinuações”, disse, furiosa.
“Não estou insinuando nada, diabo. Só falei por falar.”
“Vamos acabar com isso”, Wesley disse calmamente.
“Certo.” Estava cansada, estressada, alterada pelo scotch. “Vamos resolver isso de uma vez por todas. Vamos resolver tudo nós três, aqui neste quarto, já que o problema é com os três.”
“Não é porra nenhuma”, Marino disse. “Só existe um relacionamento aqui, e eu não tenho nada a ver com isso. Minha opinião é problema meu, tenho todo o direito a ela.”
“Sua opinião é moralista e preconceituosa”, falei, com raiva. “Você está agindo como um adolescente contrariado.”
“Essa foi a maior besteira que já ouvi na vida”, Marino disse, fechando a cara.
“Você é tão possessivo e ciumento que está me deixando louca.”
“Só porque você quer.”
“Você precisa mudar sua atitude, Marino. Está arruinando nossa amizade.”
“Nem sabia que éramos amigos.”
“Claro que somos.”
“Já é tarde”, Wesley alertou. “Estamos todos sob pressão. Exaustos. Kay, não é o momento apropriado para esta conversa.”
“É o único que temos”, falei. “Mas que droga, Marino, eu me importo com você, mas está difícil. Está me afastando. Metendo-se numa situação que me assusta. Nem sei se consegue ver o que está fazendo.”
“Bem, vou lhe dizer uma coisa.” Marino parecia me odiar. “Acho que você não está em condições de me dizer se sei ou não o que estou fazendo. Para começo de conversa, não sabe de porra nenhuma. Além disso, pelo menos eu não estou trepando com um sujeito casado.”
“Pete, já chega”, Wesley disse, autoritário.
“Chega mesmo.” Marino saiu do quarto, batendo a porta com tanta força que provavelmente acordou o motel inteiro.
“Meu Deus”, falei. “Isso é terrível.”
“Kay, você o rejeitou, por isso está fora de si.”
“Não o rejeitei.” Wesley andava de um lado para outro, agitado. “Sabia que ele era muito ligado a você. Só não tinha ideia até que ponto. Não fazia a menor ideia.” Eu não sabia o que dizer.
“Ele não é estúpido. Suponho que seja apenas uma questão de tempo, até que se dê conta da situação. Mas eu não imaginava que fosse afetá-lo assim.”
“Vou dormir”, falei.
Dormi por algum tempo, mas logo acordei. Fiquei de olhos arregalados, no escuro, pensando em Marino e no que eu havia feito. Estava tendo um caso e não me preocupava com isso, o que era incompreensível. Marino sabia que eu estava tendo um caso e sentia um ciúme irracional. Eu jamais poderia me interessar por ele, como homem.
Seria obrigada a dizer-lhe isso, mas não conseguia imaginar uma situação na qual fosse possível conversar a respeito.
Levantei-me às quatro e fiquei sentada na varanda, no frio, olhando as estrelas. A Ursa Maior estava praticamente a pino, e me lembrei de Lucy, pequena, com medo de que caísse água em cima dela, se ficasse debaixo da constelação por muito tempo. Recordei-me de seus ossos e pele perfeitos, dos olhos incrivelmente verdes. E do modo como ela olhava para Carrie Grethen. Pensei que isso tinha a ver com todos os problemas.
14
Lucy não estava em quarto particular e passei direto por ela, pois não se parecia com ninguém que eu conhecesse. O cabelo, duro de sangue, estava escuro e eriçado; os olhos, pretos e azuis. Recostada na cama, num torpor de anestésicos, não estava presente nem ausente. Aproximei-me e segurei sua mão.
“Lucy?”
Ela mal abriu os olhos. “Oi”, disse, com voz arrastada.
“Sente-se bem?”
“Nada mal. Lamento, tia Kay. Como chegou aqui?”
“Aluguei um carro.”
“De que tipo?”
“Lincoln.”
“Aposto que tinha air-bags dos dois lados.” Ela sorriu, desanimada.
“Lucy, o que houve?”
“Só me lembro de ter ido ao restaurante. Depois alguém começou a costurar minha cabeça no pronto-socorro.”
“Você sofreu uma concussão.”
“Eles acham que devo ter batido a cabeça no teto. quando o carro estava capotando. Lamento muito, quanto ao carro.”
Seus olhos se encheram de lágrimas. “Não se preocupe com o carro. Não é importante. Lembra-se de alguma coisa do acidente?” Ela fez que não com a cabeça e estendeu a mão para pegar um lenço de papel.
“Lembra-se de algo do jantar no Outback ou de sua ida ao Green Top?”
“Como sabe? Ah, claro.” Ela se desligou por um momento, as pálpebras pesadas. “Fui para o restaurante lá pelas quatro.” “Encontrou alguém lá?”
“Só uma amiga. Saí às sete, para voltar para cá.”
“Você bebeu demais”, falei.
“Não bebi tanto assim. Não sei por que saí da estrada, mas aconteceu alguma coisa.”
“O que quer dizer?”
“Não sei. Não me recordo, mas parece que aconteceu alguma coisa.”
“E quanto à loja de armas? Lembra-se de ter parado lá?”
“Não me lembro de ter ido.”
“Você comprou uma pistola semiautomática, Lucy. Lembra-se disso?”
“Sei que fui lá por isso.”
“Então foi a uma loja de armas depois de beber. Pode me dizer o que tinha em mente?”
“Não queria ficar em sua casa sem proteção. Pete recomendou que eu comprasse uma arma.”
“Marino disse isso?”, perguntei, chocada.
“Liguei para ele, um dia desses. Ele sugeriu comprar uma Sig e disse que era freguês da Green Top, em Hanover.”
“Ele estava na Carolina do Norte”, falei.
“Não sei onde ele estava. Liguei para o pager e ele telefonou de volta.”
“Tenho armas. Por que não pediu a mim?”
“Queria ter uma, já tenho idade suficiente.”
Ela não conseguia manter os olhos abertos por muito tempo.
Localizei seu médico e conversei com ele por um momento, antes de sair. Era muito jovem, tratou-me como se eu fosse a mãe ou a tia preocupada que desconhecia a diferença entre o rim e o baço. Quando ele me explicou, com certa rudeza, que uma concussão é basicamente um abalo no cérebro causado por trauma, não disse uma única palavra, nem permiti que minha fisionomia revelasse meus sentimentos. Ele corou quando um dos meus orientandos, residente naquele hospital, passou e me cumprimentou, usando meu nome.
Deixei o hospital e voltei para meu escritório, no centro, ao qual não comparecia havia uma semana. Minha mesa estava como eu temia. Passei as horas seguintes tentando organizar tudo, além de tentar localizar o policial rodoviário responsável pela ocorrência de Lucy. Deixei recado, depois liguei para Gloria Loving, nos Registros Vitais.
“Deu sorte?”, perguntei.
“Não acredito que estou falando com você pela segunda vez numa única semana. Está do outro lado da rua novamente?”
“Estou.” Não pude evitar um sorriso.
“Não demos. Até agora, nada, Kay”, ela disse. “Não encontramos nenhum registro, na Califórnia, de uma Mary Jo Steiner que tenha morrido de SIDS. Estamos tentando várias causas da morte. Seria possível obter local e data do óbito?”
“Verei o que posso fazer”, falei.
Pensei em Denesa Steiner e fiquei olhando fixamente para o telefone. Estava a ponto de ligar, quando o policial rodoviário Reed, a quem eu tentava localizar, retornou meu telefonema.
“Gostaria que me mandasse um fax com seu relatório”, falei.
“Na verdade, o relatório foi emitido de Hanover.”
“Pensei que o acidente tivesse ocorrido na 95”, falei, pois a estrada interestadual era jurisdição da polícia rodoviária, qualquer que fosse o local.
“O guarda Sinclair chegou junto comigo e me deu uma força. Quando vimos seu nome no registro, achei que era melhor checar.” Curiosamente, não havia dado conta de que meu nome no registro causaria tamanha comoção.
“Qual é o nome do guarda Sinclair?”, perguntei.
“As iniciais são A. D., creio.” Por sorte, o guarda Andrew D. Sinclair estava, quando telefonei. Ele me disse que Lucy se envolvera num acidente automobilístico sem outros veículos, quando dirigia em alta velocidade pela 95 no rumo sul, um pouco ao norte da divisa com a comarca de Henrico.
“Qual a velocidade exata?”
“Cem quilômetros por hora.”
“E as marcas de derrapagem?”
“Encontramos uma, com nove metros de comprimento, no ponto em que ela acionou os freios e saiu da pista.”
“Por que ela teria freado?”
“Estava guiando em alta velocidade e sob efeito do álcool, senhora. Pode ter cochilado e acordado em cima de outro veículo.” “Guarda Sinclair, é preciso marcas de derrapagem de cem metros para calcular que alguém estava a cem por hora. Você encontrou uma de nove. Não sei como pode ter determinado que ela estava a cem por hora,”
“O limite de velocidade naquele trecho é oitenta”, foi só o que ele respondeu.
“Qual a taxa de álcool no sangue?”
“Um ponto dois.”
“Gostaria que me enviasse um fax de seus diagramas e do relatório assim que for possível, e também que me dissesse para onde o carro foi guinchado.”
“Ele está no posto Covey, da Texaco, na rodovia 1. Perda total, senhora. Se me der o número do seu fax, mando os relatórios imediatamente.” Recebi tudo em uma hora e, com um gabarito, interpretei os códigos. Percebi que Sinclair simplesmente assumira que Lucy estava bêbada e dormira ao volante. Quando acordou, assustada, pisou no freio, derrapou, perdeu o controle do carro, saiu da pista e não conseguiu voltar. Bateu no acostamento, voltou à estrada, atravessou duas pistas e capotou, acabando por bater numa árvore e parar, de cabeça para baixo.
Via sérios problemas naquela interpretação, e um detalhe importante. Meu Mercedes tinha freios antitrava. Quando Lucy pisou no breque, ela não poderia ter derrapado da maneira descrita pelo guarda Sinclair.
Saí de minha sala e desci para o necrotério. Meu principal assistente, Fielding, e as duas jovens patologistas forenses contratadas no ano anterior trabalhavam em casos diferentes sobre as três mesas de aço inoxidável. O retinir do metal contra metal abafava o fundo de água caindo nas pias, compressores de ar e geradores roncando. A imensa porta de aço da geladeira se abriu com um estalo alto, quando um dos funcionários do necrotério passou com mais um corpo.
“Doutora Scarpetta, pode dar uma olhada nisso?” A Dra. Wheat era de Topeka. Seus olhos acinzentados e inteligentes me interrogavam, atrás de uma máscara plástica rígida respingada de sangue.
Aproximei-me da mesa.
“Não parece haver fuligem no ferimento?” Ela apontou com a luva ensanguentada para um ferimento de arma de fogo, na nuca.
Debrucei-me. “As bordas estão chamuscadas. Pode ser carne queimada. Onde estão as roupas?”
“Ele estava sem camisa. Foi morto em casa.”
“Bem, isso é ambíguo. Precisamos examinar o material no microscópio.”
“Entrada ou saída?” Fielding estudava um ferimento, em seu caso. “Aproveite que está aqui e dê seu voto.”
“Entrada”, falei.
“Também acho. Vai ficar conosco?”
“Entrando e saindo.”
“Entrando e saindo da sala ou da cidade?”
“Dos dois. Estou com o pager.”
“Está tudo bem?”, ele perguntou, e seus bíceps formidáveis saltaram quando começou a cortar as costelas.
“Um pesadelo, para dizer a verdade”, falei.
Levei meia hora para chegar no posto de gasolina Texaco com o serviço de guincho vinte e quatro horas, para onde haviam levado meu carro. Notei o Mercedes num canto, perto da cerca alambrada. Vê-lo destruído fez com que se formasse um bolo em meu estômago. Senti os joelhos bambos.
A frente estava amassada até o para-brisa, a lateral do motorista aberta como uma boca sem dentes. Usaram ferramentas hidráulicas para forçar a abertura das portas, que haviam sido removidas juntamente com a coluna. Meu coração disparou quando me aproximei; sobressaltei-me quando uma voz grave soou em minhas costas.
“Posso ajudar?” Dei meia-volta e deparei-me com um senhor grisalho, usando boné desbotado com a marca Purina na aba. “É o meu carro”, falei.
“Espero que não tenha sido com a senhora.” Notei que os pneus não estavam murchos, e que os dois air-bags haviam inflado.
“Sem dúvida, é uma pena.” Ele balançou a cabeça, olhando para meu Mercedes-Benz arruinado. “Sabe, nunca tinha visto um desses. Um 500E. Um dos mecânicos conhece bem os Mercedes, disse que a Porsche ajudou a criar o motor desse modelo. Aliás, é meio raro. De que ano é? 93? Seu marido não o comprou por aqui, né?” Notei a lanterna traseira esquerda quebrada e, perto dela, uma marca que parecia ser tinta verde. Abaixei-me para ver melhor, enquanto meus nervos começavam a vibrar de tensão.
O sujeito continuou falando. “Bem, pela quilometragem deve ser 94. Se não se importa em dizer, quanto custa uma beleza dessas? Uns cinquenta mil?”
“Você rebocou o carro?” Levantei-me, enquanto os olhos examinavam detalhes que acionavam alarmes, um após o outro.
“Toby fez o reboque, ontem à noite. Bem, a senhora não deve saber a potência do motor, né?”
“O carro estava exatamente assim, no local do acidente?” O sujeito ficou ligeiramente confuso.
“Por exemplo”, falei, “o fone está fora do gancho.”
“Não me surpreende. O carro derrapou e bateu numa árvore.”
“E a proteção contra o sol está levantada.” Ele se debruçou, olhando o vidro traseiro. Depois, cocou o pescoço. “Achei que era vidro fume. Não notei que a proteção de sol estava levantada. Dificilmente alguém faria isso à noite.” Entrei com cuidado, para espiar pelo retrovisor. Estava no modo que reduzia o brilho dos faróis dos carros que vinham por trás. Tirei as chaves do bolso e sentei-me ao volante.
“Eu não faria isso, se fosse a senhora. Estas lascas de metal cortam que nem navalha. E está tudo cheio de sangue; no banco, por todo lado.” Coloquei o fone no gancho e virei a chave. O telefone funcionava, deu linha, e a luz vermelha alertava para não gastar toda a bateria. O rádio e o CD player estavam desligados. Faróis normais e de neblina, acesos. Peguei o telefone e teclei a rediscagem. Começou a tocar, e uma voz feminina atendeu.
“Emergência.” Desliguei, com o coração disparado e os cabelos da nuca arrepiados até a raiz. Examinei as manchas vermelhas no couro cinza-escuro, no painel, no console e na parte interna do teto. Aqui e ali havia grumos de macarrão cabelo de anjo, grudados no interior do carro.
Peguei minha lixa de unha metálica e retirei um pouco da tinta verde grudada na traseira. Guardei as raspas de tinta num lenço de papel. Em seguida tentei remover a lanterna quebrada. Não consegui, até arranjar uma chave de fenda com o encarregado.
“É 92”, falei rapidamente, enquanto me afastava, deixando-o de boca aberta e olhos arregalados para mim. “Trezentos e quinze cavalos. Custou oitenta mil dólares. Só há seis no país – havia. Eu o comprei na McGeorge, em Richmond. E não tenho marido.” Eu ofegava, ao entrar no Lincoln. “Não é sangue, dentro do carro, droga. Droga!”, resmunguei, batendo a porta. Liguei o motor.
Saí cantando os pneus pela via expressa e corri para a 95, rumo sul. Pouco depois da saída para Atlee-Elmont, diminuí a marcha e parei no acostamento, o mais longe possível da pista. Os carros e caminhões passavam rugindo e lançando golfadas de vento.
O relatório de Sinclair afirmava que o Mercedes saíra da pista a aproximadamente trinta metros ao norte do marco do quilômetro cento e trinta e sete. Eu estava a pelo menos setenta metros ao norte quando vi uma marca de derrapagem lateral, não muito distante dos fragmentos de lanterna quebrada na pista da direita. A marca, de pneu arrastado lateralmente, tinha cerca de sessenta centímetros de comprimento e estava a cerca de três metros do par de marcas de derrapagem na reta, com uns dez metros. Conforme o trânsito permitia, eu entrava e saía da pista, coletando fragmentos de vidro.
Comecei a caminhar novamente e, trinta metros adiante, encontrei as marcas na pista que Sinclair incluíra em seu relatório. Meu coração voltou a disparar quando observei, atônita, as marcas de borracha deixadas pelos pneus Pirelli havia duas noites. Não se tratava de marcas de freagem ou derrapagem, mas sim marcas de aceleração, do tipo que eu havia deixado ao sair do posto Texaco cantando os pneus, pouco antes.
Apenas após ter deixado estas marcas Lucy perdera o controle do automóvel e saíra da pista. Vi as marcas dos pneus no acostamento, a mancha de borracha na guia, deixada na tentativa de correção. Vi os sinais de capotamento, o dente fundo na árvore com a qual se chocara, os pedaços de plástico e metal espalhados por toda parte.
Voltei para Richmond, sem saber direito como agir, ou a quem procurar. Pensei finalmente no investigador McKee, da polícia estadual. Havíamos trabalhado juntos em acidentes com vítimas, passado horas a fio em minha sala, movimentando carrinhos Matchbox em cima da mesa, até conseguir reconstruir as possíveis causas do acidente. Deixei recado no departamento dele e recebi o retorno pouco depois de chegar em casa.
“Não perguntei a Sinclair se ele tirou um molde das marcas dos pneus no local em que ela saiu da pista, mas duvido muito”, falei, depois de explicar o ocorrido.
“Ele não deve ter tirado, mesmo”, McKee concordou. “Ouvi falar bastante no caso, doutora Scarpetta. Muitos comentários. Bem, sabe como é, a primeira coisa que Reed notou no local do acidente foi o número de sua placa, que era baixo.”
“Conversei com Reed rapidamente. Ele não participou de quase nada.”
“Entendo. Em circunstâncias normais, quando o policial de Hanover... ha... Sinclair... chegou, Reed teria dito que estava tudo sob controle e feito pessoalmente os diagramas e medições. Mas ao perceber a quem pertencia o carro, ficou assusstado. Pela placa, deduziu que o veículo pertencia a alguém do governo, a alguém importante. Sinclair ficou encarregado dos detalhes, enquanto Reed corria para o rádio e para o telefone. Chamou seu supervisor, confirmou o nome do proprietário do automóvel. Obviamente deduziram que você estava lá dentro, foi a primeira coisa em que pensaram.”
“E começou a confusão.”
“Isso mesmo. Sabe, Sinclair acabou de sair da academia de polícia. Seu acidente foi a segunda ocorrência do rapaz.”
“Mesmo que fosse a vigésima, compreendo os motivos do engano que cometeu. Não haveria motivo algum que o levasse a procurar marcas a setenta metros do local em que Lucy saiu da pista.
“E tem certeza mesmo de que se tratava de uma marca lateral?”
“Absoluta. Se tirar os moldes, verá que a marca no acostamento combina com a marca na pista. A única maneira de provocar uma marca lateral do gênero é submeter o automóvel a um impacto externo, capaz de provocar uma mudança súbita de direção.”
“E as marcas de aceleração a setenta metros de distância deste ponto”, ele pensou em voz alta, “significam que Lucy foi atingida por trás, pisou no freio, seguiu em frente. Em poucos segundos, ela acelerou repentinamente e perdeu o controle.” “Provavelmente no momento em que estava discando para emergência”, falei.
“Vou checar com a companhia telefônica e obter o momento exato do chamado do celular. Assim, poderemos localizar a gravação.”
“Alguém colou atrás dela, com farol alto, e ela virou o espelho para o modo antirreflexo. Depois, subiu a proteção contra o sol do parabrisa traseiro, como último recurso contra o farol. Ela não estava escutando rádio ou CD, pois precisava se concentrar. Não dormiu, pelo contrário. Estava acordada e apavorada, pois alguém a perseguia. O outro veículo finalmente a atingiu por trás e Lucy freou”, prossegui, reconstruindo a cena conforme minha interpretação. “Ela segue em frente e percebe que a pessoa está se aproximando novamente. Em pânico, Lucy pisa até o fundo e perde o controle. Tudo isso deve ter ocorrido em alguns segundos.” “Se o que encontrou lá é correto, o acidente certamente foi assim mesmo.”
“Pode conferir?”
“Sem dúvida. E quanto à tinta?”
“Levarei a tinta, a lanterna traseira e os outros itens que recolhi para o laboratório. Pedirei urgência na análise.”
“Ponha meu nome no requerimento. Peça que comuniquem o resultado assim que for possível.”
Escurecera, já passava das cinco da tarde quando desliguei o telefone em minha sala no andar superior. Olhei em volta, atordoada, e me senti como uma estranha em minha própria casa. A fome que castigava meu estômago transformou-se em náusea, e tomei Mylanta no próprio frasco, antes de correr para o armário de medicamentos em busca de Zantac. Minha úlcera desaparecera durante o verão, mas, ao contrário dos antigos amantes, ela sempre retornava.
As duas linhas telefônicas tocaram e foram atendidas pela secretária eletrônica. Ouvi o ruído do fax, deitada na banheira, tomando vinho por cima do remédio. Precisava fazer muitas coisas. Sabia que minha irmã, Dorothy, viria imediatamente. Ela adorava momentos de crise, pois alimentavam sua necessidade de fazer drama. Usaria a situação para pesquisa. Sem dúvida, em seu próximo livro infantil um dos personagens sofreria um acidente automobilístico. Os críticos novamente se deliciariam com a sensibilidade e a sabedoria de Dorothy, que era uma mãe perfeita para seres imaginários, muito melhor do que para sua única filha.” O fax trazia o horário do voo de Dorothy. Ela chegaria na tarde do dia seguinte e ficaria com Lucy em minha casa.
“Ela não vai passar muito tempo no hospital, não é?”, perguntou, quando lhe telefonei, minutos depois.
“Acredito que a trarei para cá à tarde”, falei.
“Ela deve estar com uma aparência péssima.”
“Como ocorre normalmente com as pessoas, depois de um acidente de carro”, falei.
“Mas, alguma coisa é permanente?” Ela quase sussurrava. “E a pancada na cabeça?”
“O MCV é famoso pela competência em traumas cranianos”, falei. “Lucy está em ótimas mãos.”
“Ela não vai ficar desfigurada, vai?”
“Não, Dorothy, ela não vai ficar desfigurada. Sabe que ela andava bebendo?”
“Como eu poderia saber? Ela vive aí, perto de você, e parece que nunca quer vir para casa. Quando vem, não se abre comigo nem com a avó. Creio que, se alguém deve saber, esse alguém é você”.
“Ela foi indiciada por dirigir embriagada. O juiz pode recomendar um tratamento”, expliquei, com o máximo de paciência.
Silêncio.
Depois: “Minha nossa”.
Prossegui: “Mesmo que não a indiciem, seria uma boa ideia, por dois motivos. O mais óbvio é a necessidade de enfrentar o problema. Em segundo lugar, o juiz pode olhar para o caso dela de maneira mais compreensiva, se Lucy mostrar disposição para procurar ajuda”.
“Bem, vou deixar isso por sua conta. Você é a médica-advogada da família. Mas eu conheço minha filhinha. Ela não vai aceitar nada disso. Não posso imaginá-la trancada num hospital para doentes mentais, onde não tem nem computador. Ela não vai conseguir encarar mais ninguém na vida.”
“Ela não vai ficar num hospital para doentes mentais. E não há vergonha nenhuma em fazer tratamento para abuso de álcool ou drogas. A vergonha está em deixar que essas coisas acabem com a vida da gente.”
“Sempre paro na terceira taça de vinho.”
“Existem vários vícios”, falei. “Você é viciada em homens.”
“Ora, ora, Kay”, ela riu. “Veja só quem fala. E aí, tem saído com alguém ultimamente?”
15
O senador Frank Lord, tendo ouvido um boato sobre o acidente de carro, pensou que era eu quem estava dirigindo e ligou antes de o sol nascer, na manhã seguinte.
“Não era eu”, falei, sentada seminua na beirada da cama. “Lucy estava ao volante.”
“Minha nossa!” “Ela está bem, Frank. Eu a trarei para casa esta tarde.”
“Pelo que eu soube, um dos jornais publicou que você havia sofrido um acidente, e que se suspeitava de que guiava alcoolizada.” “Lucy ficou presa nas ferragens por algum tempo. Sem dúvida algum policial presumiu que era eu, quando examinou os documentos, e passou a informação para o repórter, pouco antes do fechamento da edição.” Pensei no guarda Sinclair. Ele era o meu candidato para esse equívoco.
“Kay, posso ajudar em algo?”
“Tem alguma ideia do que pode ter ocorrido no ERF?”
“Ocorreram alguns fatos novos, muito interessantes. Lucy por acaso mencionou o nome de Carrie Grethen?”
“Elas trabalham juntas. Eu a conheço.”
“Consta que ela tem ligações com uma loja de equipamentos de vigilância. Um lugar que vende aparelhos de alta tecnologia.” “Está brincando.”
“Que nada, falo sério.”
“Bem, posso entender o interesse dela em trabalhar no ERF, e me espanta que o FBI a tenha contratado, com uma ficha assim.” “Ninguém sabia. Aparentemente, o namorado dela é o dono da loja. Só descobrimos que ela frequentava o local porque a estávamos seguindo.”
“Ela sai com um homem?”
“Como é?”
“O dono da loja é homem?”
“Sim.”
“E quem disse que é namorado dela?”
“Acho que foi ela mesma, quando a interrogaram depois que a viram por lá.”
“Sabe mais alguma coisa a respeito dos dois?”
“Mais nada, no momento. Mas pego o endereço da loja, se esperar um minuto. Nem sei onde o guardei.”
“E quanto ao endereço dela, e do namorado?”
“Lamento, esses não tenho.”
“Bem, passe o que tiver então.” Apanhei uma caneta e anotei o endereço, enquanto minha mente se acelerava. O nome da loja era Eye Spy, que ficava no Springfield Mall, perto da i-95. Se saísse imediatamente, poderia chegar lá antes da hora do almoço e voltar a tempo de pegar Lucy no hospital.
“Para seu governo”, o senador Lord disse, “a senhorita Grethen foi demitida do ERF por causa da ligação com a loja, que ela obviamente omitiu ao prestar as informações para admissão. Mas até o momento não há prova alguma de seu envolvimento no caso.”
“Sem dúvida ela teria um bom motivo”, falei, controlando a raiva. “O ERF é uma mina de ouro para alguém que vende equipamento de espionagem.” Parei, raciocinando. “Sabe se o FBI a convidou, ou se foi ela que se candidatou ao cargo no ERF?” “Vamos ver. Anotei tudo. Só diz que ela entrou com um pedido em abril passado e começou a trabalhar em meados de agosto.” “Lucy também começou em meados de agosto. O que Carrie fazia, antes disso?”
“Consta que sempre mexeu com computadores. Hardware, software, programação. E engenharia também. Por isso o FBI se interessou. É muito criativa e ambiciosa, além de desonesta, infelizmente. Várias pessoas entrevistadas recentemente a descreveram como uma mulher capaz de mentir e iludir a todos, para conseguir o que deseja.”
“Frank, ela se candidatou ao emprego no ERF para poder espionar para a loja”, falei. “E não me surpreenderia se ela fosse uma dessas pessoas que odeiam o FBI.”
“As duas possibilidades fazem sentido”, ele concordou. “Mas é tudo uma questão de conseguir as provas. Mesmo que as tenhamos, ela não pode ser processada, caso não tenha roubado nada.”
“Lucy mencionou, antes de este caso acontecer, que ela estava envolvida na pesquisa referente ao sistema de trava biométrica usado no ERF. Sabe algo a respeito?”
“Não sei de nada sobre projetos de pesquisa desse tipo.”
“Mas saberia, obrigatoriamente, se houvesse um?”
“Muito provavelmente sim. Há uma boa chance. Recebo muitas informações secretas, referentes a projetos em Quantico, por causa da lei criminal e das verbas que estou tentando liberar para o FBI.”
“Bem, é estranho que Lucy tenha dito que ela estava envolvida num projeto que aparentemente nem existe”, falei.
“Infelizmente esse detalhe só torna a situação de Lucy mais delicada.” Sabia que ele tinha razão. Por mais que Carrie Grethen parecesse suspeita, as provas contra Lucy eram fortes.
“Frank”, insisti, “sabe quais são os carros de Carrie Grethen e do namorado dela?”
“Posso descobrir, sem dúvida. Por que está interessada?”
“Tenho motivos para acreditar que a batida de Lucy não foi um acidente e que ela pode estar correndo sério perigo.” Ele fez uma pausa. “Não seria uma boa ideia mantê-la no setor de segurança da academia, por algum tempo?”
“Normalmente, seria o local perfeito”, falei. “Mas duvido que ela queira ficar na academia, no momento.”
“Entendo. Bem, faz sentido. Há outras opções de local, se quiser posso providenciar.”
“Creio que sei de um lugar.”
“Viajo para a Flórida amanhã. Você tem meu número de lá.”
“Mais reuniões para levantar fundos?” Sabia que ele estava exausto, pois faltava pouco mais de uma semana para a eleição.
“Também. Além dos incêndios rotineiros. O NOW está fazendo piquetes, e meus adversários procuram me mostrar como um sujeito que odeia as mulheres, com chifres e rabo pontudo.”
“Você fez mais pelas mulheres do que qualquer outra pessoa que conheço”, disse-lhe. “Especialmente por esta mulher aqui.” Terminei de me vestir, e às sete e meia já estava tomando a primeira xícara de café na estrada, no carro alugado. O céu estava escuro, fazia frio. Mal notei a paisagem, no caminho.
Um sistema de trava biométrica, como qualquer sistema de fechadura, precisava ser destrancado, para que alguém passasse por ele. Certas fechaduras exigiam apenas um cartão magnético, enquanto outras podiam ser desmontadas ou anuladas com instrumentos variados, como gazuas, por exemplo. No entanto, um sistema que scanneava impressões digitais não poderia ser violado por meios simples, mecânicos. Meditei sobre a invasão do ERF, e as maneiras que alguém poderia ter usado para tanto.
Várias ideias passaram pela minha cabeça.
A impressão de Lucy fora scanneada pelo sistema por volta das três da madrugada, e isso só seria possível com a presença de seu dedo – ou de uma reprodução do dedo.
Recordei-me dos simpósios da Associação Internacional de Identificação, nos quais discutimos as diversas tentativas que criminosos notórios haviam feito para alterar as impressões digitais.
O sanguinário gângster John Dillinger despejara ácido nos dedos, enquanto o menos conhecido Roscoe Pitts removera cirurgicamente as impressões, da articulação até a ponta dos dedos. Estes e outros métodos falharam, e esses cavalheiros teriam feito melhor se conservassem as impressões que Deus lhes deu. As impressões alteradas foram arquivadas no Setor de Mutilações do FBI, que, francamente, é muito mais fácil de pesquisar. Além disso, dedos queimados e deformados chamam a atenção, se o sujeito é suspeito de um crime.
No entanto, o caso que voltou mais nitidamente à minha cabeça refere-se a um ladrão especialmente habilidoso, cujo irmão trabalhava numa casa funerária. O ladrão, que já havia sido preso várias vezes, tentou fazer luvas com impressões de outra pessoa. Ele mergulhou as mãos de um morto repetidas vezes em borracha líquida, formando camadas sucessivas, até que a “luva” pudesse ser removida. “.
O plano não funcionou por dois motivos. Primeiro, o ladrão não se lembrou de eliminar as bolhas de ar que se formavam entre as diversas camadas de borracha, e isso fez com que deixasse impressões deformadas na mansão que arrombou em seguida. Ele também não se preocupou em verificar a quem pertenciam as impressões. Se tivesse pesquisado, teria descoberto que o falecido era um criminoso que cumprira sua pena e morrera pacificamente, em liberdade condicional.
Pensei em minha visita ao ERF na tarde ensolarada que parecia perdida num passado distante. Sentira que Carrie Grethen se incomodara com minha presença e a de Wesley na sala, quando ela entrou mexendo uma substância viscosa, que poderia muito bem ser borracha ou silicone líquido. Durante a visita, Lucy mencionara que a amiga “estava no meio” de uma pesquisa sobre a trava biométrica.
Pode ter dito a verdade, literalmente. Talvez Carrie pretendesse, naquele momento, tirar uma cópia de borracha da impressão de Lucy.
Se minha teoria a respeito do procedimento de Carrie fosse correta, seria possível prová-la. Queria saber por que nenhum de nós pensou antes em fazer uma pergunta simples. A impressão scanneada pelo sistema de trava biométrica era fisicamente idêntico ao de Lucy, ou estávamos aceitando a interpretação do computador?
“Presumo que sim”, disse Benton Wesley, quando o chamei pelo telefone do carro.
“Claro que você ia presumir isso. Todo mundo presumiu. Mas, se alguém tirou um molde do polegar de Lucy, e o sistema o scanneou, a impressão deve ter saído ao contrário da existente no cartão que está arquivado no FBI. Uma imagem em negativo, ou espelho, em outras palavras.”
Wesley ficou em silêncio, depois falou, surpreso. “Droga. Mas o computador, percebendo que a imagem scanneada estava invertida, não a teria recusado?”
“Poucos equipamentos conseguem distinguir entre uma impressão e sua imagem invertida. Mas um especialista humano, sim”, falei. “A impressão scanneada no sistema de trava biométrico ainda deve estar arquivada digitalmente, no banco de dados.”
“Se Carrie Grethen fez isso, não acha que ela também removeria o arquivo com a impressão do banco de dados?”
“Duvido muito”, respondi. “Ela não é especialista em digitais. Provavelmente não se dá conta de que toda impressão deixada em algum lugar é invertida. E combina com as impressões no cartão somente porque estas são invertidas, também. Mas se você fizer um molde do dedo e deixar uma impressão com ele, obterá na verdade o negativo do negativo.”
“Portanto, a impressão deixada pelo dedo de borracha será, na verdade, o reverso da mesma impressão deixada pelo dedo real da pessoa.”
“Correto.”
“Minha nossa, não sou mesmo bom nestas coisas.” “Não se preocupe com isso, Benton. Sei que é confuso, mas pode confiar em minha palavra.”
“Sempre confio. Bem, precisamos de uma cópia da impressão.”
“Correto. E sem demora. Gostaria de fazer outra pergunta. Sabe de algum projeto de pesquisa do ERF, referente ao sistema de trava biométrico?”
“Um projeto de pesquisa feito pelo FBI?”
“Sim.”
“Não. Desconheço um projeto com essas características.”
“Foi o que pensei. Obrigada, Benton.” Nós dois paramos de falar, esperando alguma manifestação mais pessoal do outro, que não ocorreu. E eu não sabia o que mais poderia dizer. Havia tanta coisa em minha mente.
“Cuide-se”, ele disse, e nos despedimos.
Em menos de meia hora localizei a loja de artigos para espionagem e vigilância, num shopping center cheio de carros e pessoas. Eye Spy ficava entre Ralph Lauren e Crabtree & Evelyn. Era uma loja pequena, com o melhor que a espionagem legal poderia oferecer. Esperei a uma distância segura até que o cliente próximo ao caixa se moveu, permitindo que eu visse quem estava no balcão. Um sujeito gordo, de meia-idade, estava atendendo o cliente. Não acreditei que ele pudesse ser o amante de Carrie Grethen. Sem dúvida, aquela era mais uma de suas mentiras.
Quando o cliente que se encontrava perto do caixa saiu, restou apenas um outro, um jovem de jaqueta de couro que examinava uma vitrine com gravadores ativados pela voz e analisadores de voz portáteis. O gordo do balcão usava óculos de lentes grossas e correntes de ouro. Transmitia a impressão de que se poderia conseguir qualquer coisa ali dentro. Ele daria um jeito.
“Com licença”, falei. “Estou procurando Carrie Grethen.”
“Saiu para tomar café, volta num minuto.” Ele estudou meu rosto. “Posso ajudar em algo?”
“Vou dar uma olhada, enquanto ela não volta.” “Fique à vontade.” Já estava me interessando por uma maleta de executivo com gravador oculto, alerta contra grampos, misturador de voz para telefone e equipamento para visão noturna, quando Carrie Grethen entrou. Ela parou quando me viu e por um instante pensei, tensa, que ela ia atirar a xícara de café em minha cara. Mas apenas cravou os olhos em mim como se fossem dois pregos de aço.
“Preciso conversar com você”, disse.
“Lamento, mas não é um momento oportuno.” Ela tentou sorrir, para parecer agradável, pois mais três fregueses haviam entrado na loja, que era minúscula.
“Claro que é o momento oportuno”, disse, sem deixar de encará-la.
“Jerry?” Ela olhou para o gordo. “Pode cuidar da loja por um minuto?” Ele me olhou como um cão pronto para atacar.
“Não demoro.”
“Claro”, ele disse, com a desconfiança dos desonestos.
Segui-a para fora da loja; andamos até encontrar um banco vazio, perto da fonte.
“Soube do acidente de Lucy, e lamento muito. Espero que ela esteja bem”, Carrie disse friamente, tomando o café.
“Você não se importa nem um pouco com Lucy”, falei. “E não adianta desperdiçar seu charme comigo, pois já sei de tudo. Sei o que você aprontou.”
“Você não sabe de nada.” Ela exibiu seu sorriso frio, e o ambiente se encheu de sons aquáticos.
“Sei que fez um molde do polegar de Lucy, e descobrir o número de identificação pessoal não deve ter sido difícil, pois passavam bastante tempo juntas. Você só precisou ficar atenta, quando ela digitou a senha. Foi assim que driblou o sistema de trava biométrico, na madrugada em que invadiu o ERF.”
“Minha nossa, quanta imaginação.” Ela riu e seus olhos se endureceram mais ainda. “É melhor tomar muito cuidado antes de fazer acusações tão graves.”
“Não estou interessada em seus conselhos, senhorita Grethen. Só em lhe dar um aviso. Logo ficará provado que Lucy não invadiu o ERF. Você foi esperta, mas não o bastante, e cometeu um erro fatal.” Ela ficou em silêncio, mas percebi que sua mente repassava tudo, por trás da fachada de impassibilidade. Sua curiosidade era indisfarçável.
“Você não sabe do que está falando”, ela disse, com uma confiança que começava a mostrar sinais de abalo.
“Talvez você seja boa com os computadores, mas não conhece a investigação científica. O caso contra você é muito simples.” Expliquei minha teoria, com a certeza de um advogado experiente. “Você pediu a Lucy que a ajudasse num falso projeto de pesquisa, referente ao sistema de trava biométrico do ERF.”
“Projeto de pesquisa? Não sei de projeto nenhum”, ela disse, com a voz cheia de ódio.
“Este é o ponto-chave, senhorita Grethen. Não há projeto algum. Você mentiu para obter um molde do polegar de Lucy, com borracha líquida.” Ela soltou uma risada curta. “Minha nossa. Você andou vendo filmes de James Bond em excesso. Acha que alguém acreditaria que...” Cortei-a no meio da frase. “Esse polegar de borracha foi usado para burlar o sistema, de modo que você, ou qualquer outro, pudesse cometer um ato de espionagem industrial. Mas você cometeu um erro.” Seu rosto ficou pálido.
“Gostaria de saber qual foi o erro?”
Ela ficou rígida, sem dizer nada. Mas queria saber. Senti sua paranoia irradiar como se fosse calor.
“Sabe, senhorita Grethen”, prossegui, no mesmo tom pausado, “quando se faz um molde do dedo, a impressão digital é na verdade a imagem invertida, ou negativa, do original. Portanto, a impressão do polegar de borracha era uma inversão da digital de Lucy. Em outras palavras, estava ao contrário. Um exame da impressão scanneada pelo sistema às três da manhã mostrará isso claramente.” Ela engoliu em seco; suas palavras seguintes validaram todas as minhas conjecturas.
“Você não pode provar que eu fiz isso.”
“Ah, vamos dar um jeito de provar. Mas tenho outra informação interessante, para animar seu dia.” Aproximei-me. Senti o hálito de café. “Aproveitou-se dos sentimentos de minha sobrinha por você. Tirou vantagem de sua juventude, inocência e decência.” Aproximei-me tanto que quase encostava em seu rosto. “Não se aproxime de Lucy nunca mais. Nem fale com ela. Não telefone para ela. Nem pense nela.” Minha mão apertou o 38, no bolso do casaco. Quase queria usá-lo. “E se eu descobrir que foi você a responsável por jogá-la para fora da estrada”, continuei, em voz baixa, mas cortante e fria como um bisturi, “cuidarei de você pessoalmente. Vou persegui-la. Vou atrás de você até o inferno, pelo resto da vida. Estarei lá, quando pleitear liberdade condicional. Direi ao comitê de avaliação, ao governador e a quem mais for preciso que você é uma ameaça à sociedade e que tem um péssimo caráter. Entendeu bem?”
“Vá para o inferno”, ela disse.
“Eu não vou”, falei, “mas você já foi.”
Ela se levantou abruptamente, e seus passos furiosos a levaram de volta à loja de espionagem. Observei que um homem a seguia. Ele começou a falar com ela, enquanto eu ainda estava sentada no banco, com o coração disparado. Não sei por que ele me fez parar. Havia algo em seu perfil aquilino, nas costas fortes, em V, nos cabelos pretos pouco naturais. Ele vestia um terno azul-escuro esplêndido e portava uma valise de crocodilo. Levantei-me e já ia me afastar, quando nossos olhos se encontraram, por um instante carregado de tensão elétrica. Os olhos dele eram terrivelmente azuis.
Não corri. Senti-me como um esquilo no meio da estrada, correndo para cá e para lá, só para acabar no mesmo lugar. Comecei a andar, o mais depressa possível, e depois a correr, e o som da água caindo se assemelhava ao som dos passos dele a me perseguir. Não parei no telefone público, pois estava apavorada. Pensei que meu coração ia explodir dentro do peito, de tão depressa que batia.
Atravessei o estacionamento correndo. Minha mão tremia, quando abri a porta do carro. Só telefonei depois de acelerar bastante e garantir que ele havia sumido.
“Benton! Ai, meu Deus!”
“Kay? Minha nossa, o que foi?” Sua voz alarmada se perdia no meio dos ruídos, pois o norte da Virgínia é famoso pelas linhas dos celulares congestionadas.
“Gault!”, gritei, quase sem voz, pisando no freio para não bater na traseira de um Toyota. “Acabo de ver Gault!”
“Você viu Gault? Onde?”
“Na Eye Spy.”
“Onde? O que foi que você disse?”
“Na loja em que Carrie Grethen trabalha. A loja com a qual mantém ligações. Ele estava lá, Benton! Eu o vi chegar, quando estava saindo, e ele começou a conversar com ela, e depois me viu. Saí correndo.”
“Vá com calma, Kay!” A voz de Wesley estava tensa. Não me recordava de ter percebido tensão em sua voz, antes.
“Onde está agora?”
“Na I-95, no rumo sul. Está tudo bem.” “Não pare, pelo amor de Deus. Não pare, em hipótese alguma. Acha que ele a viu entrar no carro?”
“Creio que não. Droga, não sei.”
“Kay”, ele disse, autoritário. “Acalme-se.” Falava devagar. “Você precisa se acalmar. Não quero vê-la envolvida num acidente. Vou dar uns telefonemas. Vamos pegá-lo.”
Mas eu já sabia que não o pegariam. Quando o primeiro agente do FBI ou policial recebesse o alerta, Gault já estaria longe. Ele me reconhecera. Percebi isso na frieza de seus olhos azuis. Ele sabia exatamente o que eu pretendia fazer, assim que fosse possível, e desapareceria outra vez.
“Você disse que ele estava na Inglaterra”, falei, estupidamente.
“Eu disse que acreditava nisso”, Wesley retrucou.
“Não percebe, Benton?” Prossegui, pois minha mente se recusava a parar de funcionar. “Ele está envolvido nisso. Ele está metido no que aconteceu no ERF. Ele deve ter enviado Carrie Grethen, ele a obrigou a fazer tudo. Ela era espiã dele.” Wesley ficou em silêncio, pensando nas consequências. Eram tão terríveis que ele nem queria pensar. Sua voz traía a tensão. Começava a ficar incomodado também, pois conversas daquele tipo não deviam ser mantidas em telefones celulares. “E o que ele queria?”, Benton disse, agitado. “O que ele podia querer lá?”
Eu sabia. Sabia exatamente o que ele queria.
“CAIN”, falei, e a linha caiu.
16
Retornei a Richmond, sem sentir o espectro maligno de Gault a me assombrar. Teria outras prioridades e demônios a enfrentar, e não escolhera me caçar, acreditava. Mesmo assim, tão logo entrei em casa liguei o alarme. Não ia a lugar algum, nem ao banheiro, sem levar a arma.
Pouco depois das duas da tarde fui para o MCV; e Lucy veio de cadeira de rodas até meu carro. Ela insistiu em movimentar a cadeira sozinha, apesar de minha insistência em empurrá-la, como qualquer tia carinhosa. Assim que chegamos em casa, porém, ela se entregou a minhas atenções. Acomodei-a na cama, onde ficou, meio sonolenta. Preparei um pouco de zuppa di aglio fresco, uma sopa de alho popular nos arredores de Brisighella, onde a servem a crianças pequenas e idosos há muitos anos. A sopa e o ravioli recheado de abóbora e nozes levantariam um defunto. Já me sentia melhor quando o fogo da lareira aqueceu a sala e os aromas deliciosos encheram o ambiente.
Na verdade, se eu passava muito tempo sem cozinhar, tinha a impressão de que ninguém se importava com minha casa, nem ali vivia. Como se a própria casa ficasse triste. Um pouco mais tarde, sob um céu carregado de ameaçadoras nuvens de chuva, peguei o carro e fui para o aeroporto buscar minha irmã. Não a encontrava havia algum tempo, e ela não parecia mais a mesma. Nunca parecia a mesma, aliás, de uma visita para outra. Dorothy era terrivelmente insegura, por isso conseguia ser tão mesquinha e mudava o penteado e o estilo de vestir com tanta frequência.
Naquele final de tarde, parada no portão de desembarque da usAir, observava os rostos dos passageiros que chegavam, procurando traços familiares. Reconheci-a pelo nariz e a pinta no queixo, coisas difíceis de alterar. Pintara o cabelo de preto e o penteara de tal modo que parecia uma carapaça de couro na cabeça. Usava óculos enormes, lenço vermelho berrante no pescoço, calça justa e botas de cano alto na última moda. Magra, avançou em minha direção e me beijou no rosto.
“Kay, é tão bom vê-la. Nossa, você parece estar tão cansada!”
“Como vai mamãe?”
“Dor dos quadris, sabe como é. Está de carro?”
“Alugado.”
“Bem, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que você ficou sem seu Mercedes. Nossa, nem consigo me imaginar sem o meu.” Dorothy tinha um 190E, que conseguira saindo com um policial de Miami. Fora confiscado de um traficante de drogas e vendido em leilão por uma ninharia. Era azul-escuro, com aerofólios e bancos forrados com tecido risca de giz.
“Tem bagagem?”, perguntei.
“Só isso. Ela estava correndo muito?”
“Lucy não se lembra de nada.”
“Não imagina como eu me senti, quando o telefone tocou. Meu Deus. Quase tive um ataque do coração.” Chovia, e eu estava sem guarda-chuva. “Ninguém pode saber como é, exceto se passou por uma experiência assim. Aquele momento. Aquele momento terrível, quando a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas percebe que vai receber más notícias a respeito de uma pessoa querida. Espero que não tenha estacionado muito longe daqui. Talvez fosse melhor se eu esperasse.”
“Eu precisaria pagar, sair do estacionamento, dar a volta e vir até aqui.” Já localizara meu carro, de onde estávamos. “Demoraria uns dez ou quinze minutos.”
“Por mim, tudo bem. Não se preocupe. Esperarei sem problemas. Preciso mesmo ir ao toalete. Deve ser tão bom não precisar mais se preocupar com certas coisas, não é mesmo?”
Ela não explicou o que pretendia dizer, até entrar no carro. Quando já estávamos a caminho, começou.
“Você toma hormônios?”
“Para quê?”
Chovia forte, os pingos grossos batiam no teto como os cascos de uma manada de pequenos animais.
“As mudanças.” Dorothy tirou um saquinho plástico da bolsa e começou a mordiscar um biscoito de gengibre.
“Que mudanças?”
“Ora, você sabe. Calor, mau humor. Conheço uma mulher que começou a sentir tudo no dia em que completou quarenta anos. A mente tem um poder incrível.” Liguei o rádio.
“Ofereceram um lanche horrível no avião, e você sabe como eu fico quando não como.” Ela comeu outro biscoito. “Tem apenas vinte e cinco calorias, posso comer oito por dia. Por isso, precisa parar para eu comprar mais. E maçãs, claro. Você tem tanta sorte. Pelo jeito, não precisa se preocupar nem um pouco com o peso. Também, imagino que não sinta muita fome, fazendo o que você faz.”
“Dorothy, há uma clínica para tratamento em Rhode Island; gostaria de conversar a respeito.” Ela suspirou. “Estou tão preocupada com Lucy.”
“É um programa de quatro semanas.”
“Não sei se aguento pensar na possibilidade de ver minha filha presa num lugar assim.” Ela comeu outro biscoito.
“Bem, vai ter de aguentar, Dorothy. O caso é muito sério.”
“Duvido que ela queira ir. Sabe como é teimosa.” Dorothy ficou pensativa, por um minuto. “Bem, talvez seja uma boa ideia.” E suspirou de novo. “Quem sabe, enquanto estiver lá, eles possam dar um jeito em outras coisas também.”
“Que outras coisas, Dorothy?”
“Sabe, eu não sei mais o que fazer com ela. Não entendo o que deu errado, Kay.” Ela começou a chorar. “Com todo o respeito, você não pode imaginar o que é ter uma filha e vê-la acabar desse jeito. Totalmente desvirtuada. Não sei o que aconteceu. Certamente não dei o mau exemplo. Posso ser culpada de um monte de coisas, mas não disso.”
Desliguei o rádio, e a encarei. “Do que está falando, afinal?” Sempre me espantava a antipatia que eu sentia por minha irmã. Nem fazia sentido que ela fosse minha irmã, pois não conseguia encontrar nada em comum com ela, exceto a mesma mãe e lembranças de termos morado na mesma casa.
“Não acredito que você não se tenha preocupado com isso. Bem, vai ver, para você, isso parece normal.” Suas emoções ganharam força, conforme o astral de nosso encontro descia ladeira abaixo. “Não seria honesto de minha parte ocultar que fiquei preocupada com sua influência neste departamento, Kay. Não que eu a esteja julgando, sua vida pessoal é problema seu, e há coisas que a gente não pode evitar.” Ela assoou o nariz, as lágrimas escorreram, a chuva piorou.
“Dorothy, pelo amor de Deus! Do que você está falando?”
“Ela vive de olho em tudo que você faz. Se você escova os dentes de determinada maneira, pode ter certeza de que ela vai imitá-la. Se quer mesmo saber, tenho sido muito compreensiva, como nenhuma outra mãe seria capaz. É tia Kay para cá, tia Kay para lá. Há anos.”
“Dorothy...”
“Nunca reclamei, nunca tentei afastá-la de sua influência, por assim dizer. Sempre quis o melhor para ela, e por isso deixei passar esse pequeno caso de idolatria...”
“Dorothy...”
“Você não faz ideia do meu sacrifício.” Ela assoou o nariz ruidosamente. “Como se não bastasse eu sempre ter sido comparada a você na escola, e ter de aguentar os comentários de mamãe, porque você era tão perfeita em tudo. Porra, em tudo. Cozinhava, consertava as coisas, cuidava do carro, pagava as contas. Era o homem da casa, quando estávamos crescendo. E depois virou o pai da minha filha, se é que me entende.”
“Dorothy!” Mas ela não ia parar.
“Não posso competir com você neste aspecto. Certamente não posso ser pai dela. Admito, você é muito mais homem do que eu. Claro. Você me deixou para trás nisso, e com o pé nas costas. Doutora Scarpetta, médico. Bela bosta. É injusto, e ainda por cima você ficou com os peitos maiores. O homem da casa ficou até com os peitos.”
“Dorothy, cala a boca.”
“Não calo, você não pode me obrigar”, ela murmurou, furiosa. Estávamos de volta ao nosso quartinho com a única cama, que dividíamos à força, onde aprendemos a nos odiar em silêncio, enquanto nosso pai agonizava. Estávamos de volta à mesa da cozinha, comendo macarrão em silêncio, enquanto ele, de sua cama posta na sala, dominava nossas vidas. Agora estávamos a ponto de entrar em minha casa, onde Lucy descansava, ferida, e me espantava que Dorothy não reconhecesse um roteiro tão velho e previsível quanto nós duas.
“Você está tentando me culpar do que, exatamente?”, falei, ao abrir a porta da garagem. “Vamos dizer o seguinte: Lucy não aprendeu comigo a ficar sem namorado. Isso eu posso jurar.” Desliguei o motor e olhei para ela.
“Ninguém gosta e aprecia os homens mais do que eu, e na próxima vez em que pensar em me criticar como mãe, deve olhar para sua própria contribuição à formação de Lucy. Quero dizer, com quem ela se parece, afinal?”
“Lucy não se parece com ninguém que eu conheça”, falei.
“Uma ova. Ela é você escarrada. E agora virou bêbada e acho que é sapatão.” Ela começou a chorar de novo.
“Está sugerindo que sou lésbica?” Eu já estava para lá da raiva.
“Bem, ela aprendeu isso com alguém.”
“Acho melhor a gente entrar.” Ela abriu a porta e mostrou-se surpresa quando não saí do carro. “Não vai entrar?” Entreguei-lhe a chave e o código do alarme.
“Preciso fazer compras”, falei.
Peguei os biscoitos de gengibre e maçãs no Ukrop's, e percorri os corredores durante algum tempo, pois não queria voltar para casa. Na verdade, nunca me entendia com Lucy quando a mãe dela estava por perto, e aquela visita seguramente começou pior do que as outras. Compreendia alguns sentimentos de Dorothy. Os ciúmes e insultos não chegavam a ser uma grande surpresa, pois não eram novidade. Não era seu comportamento que me provocava aquela sensação ruim, e sim ela me jogar na cara que eu vivia sozinha. Ao passar pelos biscoitos, doces, geleias e queijos cremosos, desejei que meus males pudessem ser curados pela comilança desenfreada. Se me entupir de scotch preenchesse os vazios, eu teria feito isso. Mas voltei para casa com uma sacola pequena e servi o jantar para minha família, lamentavelmente pequena.
Depois do jantar, Dorothy refugiou-se numa poltrona na frente da lareira. Ela leu e tomou Rumple Minze, enquanto eu preparava Lucy para dormir. “Dói muito?”, perguntei.
“Não muito. Mas não consigo ficar acordada. De repente meus olhos começam a fechar.”
“Ótimo, pois você precisa mesmo dormir bastante.”
“Tenho sonhos terríveis.”
“Quer contá-los a mim?”
“Alguém me persegue, vem atrás de mim, sempre de carro. Ouço o barulho da batida e acordo.”
“Como são esses ruídos?”
“Batidas no metal. Som do air-bag inflando. Sirenes. Às vezes é como se eu estivesse dormindo, sem dormir, e as imagens dançam na frente dos meus olhos. Vejo luzes vermelhas piscando na pista e homens com capas de chuva amarelas. Viro de um lado para outro e começo a suar.”
“É normal que as pessoas sofram de estresse após um trauma. Isso talvez dure algum tempo.”
“Tia Kay, eu vou ser presa?” Seus olhos apavorados, meio escondidos pelos hematomas, partiram meu coração.
“Vai dar tudo certo, mas eu gostaria de dar uma sugestão que não vai ser do seu agrado.” Falei sobre o centro de tratamento em Newport, Rhode Island, e ela começou a chorar.
“Lucy, se for condenada por dirigir embriagada, pode ter de fazer isso de qualquer maneira, em consequência da sentença. Não seria melhor tomar a iniciativa e resolver logo tudo de uma vez?” Ela enxugou os olhos, com cautela.
“Não acredito que isso esteja acontecendo comigo. Todos os meus sonhos foram por água abaixo.”
“Isso não é verdade, de modo algum. Você está viva. Ninguém mais se feriu. Seus problemas podem ser resolvidos, e quero ajudá-la. Mas você precisa confiar em mim, e me ouvir.” Ela baixou os olhos para as mãos, em cima da coberta, e as lágrimas correram.
“E gostaria que fosse honesta comigo também.” Ela não me encarou.
“Lucy, você não comeu no Outback – a não ser que de uma hora para outra tenham incluído espaguete no cardápio. No carro havia espaguete por todo lado, e presumo que tenha pedido para embrulhar a sobra. Aonde foi, naquela noite?” Ela me encarou. “Ao Antonio's.”
“Em Stafford?” Ela fez que sim.
“Por que mentiu?”
“Porque não queria que você soubesse. Não é da conta de ninguém aonde eu vou.”
“Com quem foi lá?” Ela balançou a cabeça. “Isso não faz diferença.”
“Estava com Carrie Grethen, não é? Ela a convenceu, há algumas semanas, a participar de um projeto de pesquisa, por isso você se meteu nessa encrenca. Na verdade, ela estava mexendo borracha líquida, quando fui visitá-la no ERF.” Minha sobrinha desviou os olhos.
“Por que não me conta a verdade?” Uma lágrima escorreu pelo seu queixo. Discutir Carrie com ela era impossível. Mesmo assim, tomei fôlego e prossegui. “Lucy, creio que alguém quis jogá-la para fora da estrada.” Seus olhos se arregalaram.
“Examinei o carro e o local do acidente, e encontrei muitos detalhes que me incomodaram. Lembra-se de ter discado para emergência?”
“Não. Eu fiz isso?” Ela parecia surpresa.
“A última pessoa a usar o telefone ligou para lá, e presumo que tenha sido você. Um investigador da polícia estadual está tentando localizar a gravação, para sabermos exatamente quando a ligação foi feita e o que você disse.”
“Minha nossa.”
“Além disso, há indícios de que alguém a perseguia, com o farol alto ligado. Você virou o espelho e ergueu a proteção solar. O único motivo para tanto, numa via expressa escura, seria uma luz forte, por trás, que dificultasse a visão.” Parei, estudando sua fisionomia. “Lembra-se de alguma coisa?”
“Não.”
“Lembra-se de um carro? Verde? Ou verde-claro?”
“Não.”
“Conhece alguém que tenha um carro dessa cor?”
“Preciso pensar.”
“E Carrie?” Ela balançou a cabeça, negativamente.
“Ela tem um BMW conversível. É vermelho.”
“E quanto ao sujeito com quem ela trabalha? Ela mencionou um sujeito chamado Jerry para você, algum dia?”
“Não.”
“Bem, um veículo deixou uma marca verde na parte danificada da traseira do meu carro e quebrou uma lanterna. Para encurtar a história, depois que você saiu do Green Top alguém a seguiu e bateu em sua traseira.”
“Em seguida, você acelerou repentinamente, perdeu o controle do carro e saiu da pista. Deduzi que você acelerou enquanto discava para emergência. Estava apavorada; talvez a pessoa que a atingiu estivesse muito próxima novamente.”
Lucy ergueu as cobertas até o queixo. Estava pálida. “Alguém tentou me matar.”
“Na minha opinião, Lucy, quase conseguiu. Por isso estou fazendo perguntas que parecem muito pessoais. Alguém precisa fazê-las. Não quer me contar tudo?”
“Você já sabe o suficiente.”
“Vê alguma relação entre o que ocorreu no ERF e o acidente?”
“Claro que vejo”, ela disse, com veemência. “Foi tudo uma armação, tia Kay. Não entrei naquele prédio às três da madrugada. Nunca roubei informações secretas!”
“Precisamos provar isso.”
Ela me encarou, tensa. “Nem sei se acredita em mim.” Acreditava, mas não poderia revelar isso, no momento. Não podia contar meu encontro com Carrie. Necessitava de toda a disciplina deste mundo para agir como advogada com minha própria sobrinha, pois sabia que seria errado induzi-la a falar.
“Não posso ajudar, se não for franca comigo”, disse-lhe. “Estou fazendo o possível para manter a mente aberta e livre de preconceitos, para agir do modo correto. Mas, francamente, nem sei o que pensar.”
“Não acredito que você possa... Ora, que se dane. Pense o que quiser.” Seus olhos se encheram de lágrimas.
“Por favor, não fique brava comigo. Trata-se de um caso extremamente grave. O modo como lidarmos com ele afetará sua vida inteira. E há duas questões prioritárias. A primeira é a sua segurança. Depois de ouvir o que acabei de contar sobre o acidente, talvez entenda melhor por que acho conveniente que você vá para a clínica de tratamento. Ninguém saberá onde está. Garantiremos sua segurança. A outra prioridade é tirá-la desta confusão, para que seu futuro não seja prejudicado.”
“Jamais serei agente do FBI. É tarde demais.”
“Não se limparmos seu nome em Quantico e conseguirmos que o juiz alivie a acusação de dirigir embriagada.”
“Como?”
“Você pediu um milagre. Talvez ocorra.”
“Quem é o santo?”
“Por enquanto, basta saber que suas chances são ótimas, se me escutar e fizer o que estou mandando.”
“Sinto-me como se estivesse indo para a cadeia.”
“A terapia a ajudará, por uma série de razões.”
“Prefiro ficar aqui com você. Não quero ser chamada de bêbada pelo resto da vida. Além disso, não preciso de nada disso.” “Talvez não precise. Mas precisa entender melhor os motivos que a levaram a abusar do álcool.”
“Acho que gosto da maneira como me sinto quando não estou aqui. Ninguém me quer aqui, de qualquer jeito. Talvez faça sentido”, ela disse, amargurada.
Conversamos por mais algum tempo. Em seguida, dediquei-me a contatar, pelo telefone, a companhia aérea, o pessoal do hospital e um psiquiatra local meu amigo. Edgehill, uma clínica respeitada de Newport, poderia recebê-la no dia seguinte, à tarde. Eu queria levá-la, mas Dorothy não quis nem saber disso. Nestes momentos a mãe deve ficar ao lado da filha, ela disse, e minha presença não era nem necessária, nem conveniente. Eu já estava me sentindo deslocada, quando o telefone tocou, à meia-noite.
“Espero que eu não a tenha acordado”, Wesley disse.
“Não. Fico contente que tenha ligado.”
“Tinha razão quanto à digital. Está invertida. Lucy não poderia tê-la deixado, a não ser que ela mesma fizesse o molde.”
“Claro que ela não fez o molde. Meu Deus”, falei, impaciente. “Esperava que isso encerrasse a questão, Benton.”
“Ainda não.”
“E quanto a Gault?”
“Nenhum sinal dele. Aquele panaca do Eye Spy nega que Gault tenha estado lá.” Ele fez uma pausa. “Tem certeza de que o viu?” “Poderia jurar no tribunal.” Teria reconhecido Temple Gault em qualquer lugar. Costumava ver seus olhos durante o sono, brilhantes como vidro azul, olhando pela porta entreaberta que dava numa sala estranha, escura, fedorenta. Via Helen, a guarda da prisão, de farda, decapitada. Ela estava sentada na cadeira em que Gault a deixou. Imagino a cara do fazendeiro que cometeu o erro de abrir a sacola de bola de boliche que encontrou em suas terras, coitado.
“Também lamento.” Wesley estava dizendo. “Não imagina o quanto.”
Contei-lhe que estava levando Lucy para Rhode Island. Relatei tudo que julgava não ter dito ainda, depois chegou sua vez de passar os detalhes. Nesse momento, desliguei o abajur e escutei sua voz no escuro.
“As coisas não vão muito bem por aqui. Como já disse, Gault desapareceu novamente. Ele está brincando conosco. Não sabemos no que ele está envolvido ou no que não está. Temos um caso na Carolina do Norte e outro na Inglaterra. Mas de repente ele aparece em Springfield, aparentemente envolvido num caso de espionagem contra o ERF.”
“Não tem aparentemente nenhum, Benton. Ele penetrou no centro nervoso do FBI. A questão é: o que vocês pretendem fazer a respeito?”
“No momento, o ERF está mudando códigos, senhas, esse tipo de coisa. Esperamos que ele não tenha conseguido muitas informações.”
“Esperem mesmo.”
“Kay, a polícia de Black Mountain conseguiu um mandado de busca para a residência e a picape de Creed Lindsey.”
“Eles o encontraram?”
“Não.”
“E o que Marino tem a dizer?”, perguntei.
“Como vou saber?”
“Não esteve com ele?”
“Não muito. Acho que ele passa a maior parte do tempo com Denesa Steiner.”
“Pensei que ela estivesse fora da cidade.”
“Já voltou.”
“Esse caso deles é sério, Benton?”
“Pete está obcecado. Nunca o vi desse jeito. Não acredito que sejamos capazes de tirá-lo daqui.”
“E você?”
“Provavelmente estarei indo e vindo. Mas é difícil dizer.” Ele parecia desanimado. “Só posso dar conselhos, Kay. Mas a polícia está ouvindo Pete, e Pete não está querendo ouvir ninguém.”
“E o que a Sra. Steiner tem a dizer a respeito de Lindsey?”
“Ela acha que pode ter sido ele quem a atacou, naquela noite. Mas não conseguiu ver direito.”
“O sotaque dele é inconfundível.”
“Mencionamos isso a ela. Ela disse que não se lembra direito da voz do sujeito, só que ele parecia ser branco.”
“Ele também tem um cheiro muito forte.”
“Não sabemos se estava cheirando mal naquela noite.”
“Duvido que ele se preocupe com a higiene em qualquer noite.”
“A questão é que ela não tem certeza, o que fortalece as suspeitas contra ele. E a polícia tem recebido muitos telefonemas sobre Lindsey. Ele foi visto em atitude suspeita, olhando para as crianças ao passar na picape. Ou avistaram o veículo perto do lago Tomahawk, pouco depois do desaparecimento de Emily. Sabe como é, quando as pessoas enfiam uma coisa na cabeça...”
“E você, o que enfiou na cabeça?” A escuridão me abraçava, como um cobertor macio, reconfortante, e eu percebia o timbre dos sons que emitia. Sua voz era elegante, musculosa. Como seu físico, muito sutil em termos de beleza e força.
“Esse sujeito, Creed, não se encaixa. Ainda estou incomodado com a história do Ferguson. Por falar nisso, recebemos a análise do DNA, e a pele era mesmo dela.”
“Nenhuma surpresa.”
“Minha intuição diz que as coisas não se encaixam, no caso de Ferguson.”
“Descobriu mais alguma coisa a respeito dele?”
“Ainda estamos investigando.”
“E Gault?”
“Não podemos deixá-lo de lado. Ele pode ter matado Emily.” Fez uma pausa. “Quero ver você.” Minhas pálpebras estavam pesadas e minha voz soou, sonhadora, do fundo do travesseiro, na escuridão do quarto.
“Bem, preciso ir a Knoxville. Não fica muito longe daí.”
“Vai se encontrar com Katz?”
“Ele e o Dr. Shade estão fazendo uma experiência. Já deve estar no final.”
“A Lavoura de Corpos não é um lugar que me agrada visitar.”
“Está querendo dizer que não vai me encontrar lá?”
“Não é por isso.”
“Vai passar o fim de semana em casa?”
“Vou de manhã.”
“Está tudo bem?” Era esquisito perguntar a respeito da família dele; raramente um de nós mencionava a esposa.
“Bem, meus filhos estão velhos demais para comemorar o dia das bruxas. Não preciso me preocupar com festas e fantasias.” “Ninguém é velho demais para o dia das bruxas.”
“Sabe, a história dos doces costumava provocar muita agitação, em minha casa. Dava trabalho. Eu precisava levar as crianças de um lado para outro e tudo mais.”
“Provavelmente ia armado e tirava raios X dos doces que eles ganhavam.”
“Você não tem jeito”, ele disse.
17
No início da manhã de sábado preparei tudo para ir a Knoxville e ajudei Dorothy a separar os itens necessários à temporada de minha sobrinha na clínica. Não foi fácil fazer minha irmã entender que Lucy não precisaria de roupas caras, do tipo que exige lavagem a seco e ferro de passar. Quando expliquei que não deveria levar nada de valor, Dorothy ficou preocupada.
“Meu Deus. Parece que ela está indo para a penitenciária.” Fazíamos a mala no quarto em que Dorothy estava, para não acordar Lucy.
Enfiei um moletom na mala aberta sobre a cama. “Se quer saber, tampouco acho prudente levar joias caras a um hotel de luxo.” “Tenho muitas joias caras e passo muito tempo em hotéis de luxo. A diferença é que não preciso me preocupar com os viciados em drogas no quarto ao lado.”
“Dorothy, há viciados em drogas por toda parte. Não precisa ir até Edgehill para encontrá-los.”
“Ela vai ter um troço quando descobrir que não pode usar o laptop.”
“Explicarei que não é permitido e acredito que compreenderá.”
“Acho que eles são rígidos demais, nisso.”
“Nosso objetivo ao internar Lucy é que ela trabalhe com seus problemas, não com programas do computador.”
Peguei os tênis Nike de Lucy e pensei no vestiário em Quantico, quando ela tinha lama dos pés à cabeça, suava e sangrava, após os exercícios em Yellow Brick Road.
Ela parecia tão feliz, na época, mas não poderia estar. Eu me sentia mal por não haver percebido suas dificuldades antes. Se tivesse passado mais tempo a seu lado, talvez nada disso tivesse acontecido.
“Acho que isso é ridículo. Se eu precisasse ficar num lugar desses, eles jamais conseguiriam me impedir de escrever. É a melhor terapia. Uma pena que Lucy não goste de algo desse tipo, pois não teria tantos problemas se gostasse, estou convencida disso. Por que não escolheu a clínica Betty Ford?”
“Não vi razão para mandar Lucy para a costa Oeste. Além disso, uma vaga lá demora.”
“Suponho que a lista de espera seja enorme.” Dorothy parecia pensativa, ao dobrar uma calça jeans desbotada. “Imagine, a gente poderia passar um mês inteiro entre estrelas de cinema. Apaixonar-se por um galã e acabar morando em Malibu.”
“Lucy não precisa conhecer estrelas de cinema, no momento”, disse, irritada.
“Bem, espero que saiba que ela não é a única que precisa se preocupar com a impressão que isso pode causar.” Parei o que estava fazendo e a encarei. “Às vezes sinto vontade de encher você de porrada.” Dorothy ficou surpresa e ligeiramente amedrontada. Jamais lhe mostrava toda a minha raiva. Nunca ergui um espelho para que olhasse sua vida narcisista e superficial, e se visse como eu a via. Claro, ela jamais se olharia num espelho assim; o problema todo estava aí. “Você não tem nenhum livro prestes a ser lançado. Dentro de alguns dias, estarei na estrada novamente.”
“E o que acha que eu vou dizer, quando algum jornalista perguntar a respeito de minha filha? Como acha que o meu editor vai reagir a uma coisa dessas?” Olhei ao redor, para ver o que mais precisava ser posto na mala. “Não ligo a mínima para a reação do seu editor ao que está acontecendo. Francamente, Dorothy, não ligo a mínima para o seu editor.”
“Isso pode prejudicar meu trabalho”, ela prosseguiu, como se não tivesse me ouvido. “Precisarei consultar meu editor, para descobrirmos a melhor estratégia.”
“Você não vai falar uma palavra sequer a respeito de Lucy a seu editor.”
“Você está ficando muito violenta, Kay.”
“É bem possível.”
“Suponho que seja consequência de seu trabalho, já que vive de cortar as pessoas”, ela disse, ferina.
Lucy precisaria de sabonete, pois lá não encontraria seu tipo predileto. Fui até o banheiro e peguei alguns sabonetes da Lazlo, de lama, e outros da Chanel. A voz de Dorothy me seguiu. Entrei no quarto de Lucy e a encontrei sentada na cama.
“Não sabia que você já havia acordado”, disse-lhe, antes de beijá-la. “Vou sair em poucos minutos. O táxi virá mais tarde, para pegar você e sua mãe.”
“E quanto aos pontos na minha cabeça?”
“Serão tirados daqui a alguns dias. Alguém na enfermaria da clínica dará um jeito. Já discuti essas questões com eles. Estão a par de sua situação.”
“Minha cabeça dói.” Ela fez uma careta, ao tocar o alto da cabeça.
“Você sofreu abalos nos nervos. Vai passar, com o tempo.”
Enfrentei outra chuva forte, a caminho do aeroporto. As folhas cobriam a pista como flocos de milho amolecidos pelo leite; a temperatura caiu a dez graus. Peguei um avião até Charlotte, inicialmente, pois não era possível, pelo jeito, ir de Richmond a qualquer lugar sem escala numa cidade que não ficava exatamente no caminho. Quando cheguei a Knoxville, muitas horas depois, o tempo continuava ruim, porém mais frio, e escurecera.
Entrei no táxi. O motorista, natural de lá mesmo, disse que se chamava Cowboy e nas horas vagas tocava piano e compunha. Quando chegamos ao Hyatt, eu já sabia que ele ia uma vez por ano a Chicago, para agradar a mulher, e que costumava fazer corridas com senhoras de Johnson City que vinham à cidade fazer compras nos shopping centers. Vi quanta inocência pessoas como eu haviam perdido e dei ao Cowboy uma gorjeta excepcionalmente generosa. Ele esperou até que eu deixasse as coisas no quarto e me levou ao Calhoun's, que dava para o rio Tennessee e prometia a melhor costela dos Estados Unidos.
O restaurante estava bem cheio e tive de esperar um pouco no bar. Descobri que era a semana de início das aulas na Universidade do Tennessee, vendo por toda parte casacos e pulôveres cor de laranja berrantes. Os alunos e ex-alunos de várias idades bebiam, riam e falavam sobre o jogo da tarde. As respostas rudes e imediatas pipocavam de cada canto; se não me detivesse em uma conversa específica, só ouviria o clamor incessante.
Os Vols haviam derrotado os Gamecocks, numa das batalhas mais renhidas já travadas na história deste mundo. Quando sujeitos com bonés UT se viraram em minha direção, procurando aprovação, eu era enfática nos movimentos com a cabeça, pois admitir naquele salão que eu não estivera presente equivaleria a alta traição. Só consegui uma mesa às dez da noite, quando meu nível de ansiedade já estava nas alturas.
Não comi nada italiano ou sensato, naquela noite, pois não comia direito havia dias e estava morrendo de fome. Pedi costela com salada e pão. Quando a garrafa de molho Tennessee Sunshine Hot Pepper me tentou, experimentei um pouco. Depois pedi a torta Jack Daniel's. Uma refeição divina, saboreada num canto, sob luminárias Tiffany, com vista para o rio, que corria lépido, iluminado pelas luzes da ponte, de intensidade e comprimento variado, como se a água indicasse eletronicamente uma música que eu não escutava.
Tentei não pensar em crimes. Mas por todo lado a cor de laranja forte me cercava como uma série de fogueiras e não conseguia deixar de ver a fita adesiva nos pulsos de Emily. Em sua boca. Pensei nas terríveis criaturas presas em Attica, em Gault e outros como ele. Quando pedi a conta ao garçom, Knoxville parecia tão apavorante quanto qualquer outra cidade que eu conhecia.
Meu desconforto aumentou conforme esperava, do lado de fora. Quinze minutos, que se transformaram em meia hora, e nada de o Cowboy chegar. Pelo jeito, partira em busca de outros horizontes, e eu estava sozinha, à meia-noite, vendo garçons e cozinheiros indo para casa.
Voltei ao restaurante, numa última tentativa.
“Faz mais de uma hora que estou esperando o táxi que você chamou”, falei ao jovem ao balcão.
“Volta às aulas, senhora. Isso é um problema.”
“Compreendo, mas preciso voltar ao hotel.”
“Onde está hospedada?”
“No Hyatt.”
“Eles têm um serviço de transporte para hóspedes. Quer que eu tente?”
“Por favor.” Mandaram uma van, e o motorista, um jovem tagarela, perguntou sobre o jogo de futebol americano que não vi, enquanto eu pensava em como era fácil ser ajudada por estranhos como Bundy e Gault. Eddie Heath morreu assim. Sua mãe o mandou até uma loja de conveniência, próxima de onde moravam, para comprar uma lata de sopa, e poucas horas depois ele estava amarrado, mutilado, com uma bala na cabeça. Usaram fita adesiva neste caso também. Poderia ser de qualquer cor, pois nunca a vimos.
O jogo macabro de Gault incluíra atar os pulsos de Eddie, depois que ele foi assassinado com um tiro, e remover a fita antes de dispensar o corpo. Nunca ficou claro por que ele agira assim. Raramente havia clareza nas múltiplas manifestações das fantasias de aberrações.
Por que um nó de forca, em vez do nó corrediço simples, seguro? Por que uma fita adesiva cor de laranja berrante? Gault preferiria fita cor de laranja? Pensei, e concluí que sim. Ele era exagerado. E sem dúvida sentia prazer em prender os outros.
Matar Ferguson e guardar a pele de Emily no freezer também combinava com o estilo dele. Todavia, abusar dela sexualmente não se encaixava, e isso não parava de me incomodar. Gault matara duas mulheres sem demonstrar interesse sexual por elas. Só mordera e despira o menino. Raptara Eddie por impulso, para obter seu prazer perverso.
E outro menino na Inglaterra, a julgar pelas informações.
De volta ao hotel, encontrei o bar lotado e muita gente espalhada pelo saguão. Ouvi risos altos, no meu andar, ao retornar discretamente para o quarto. Pensava em ver um filme, quando meu pager começou a vibrar, na penteadeira. Pensei que Dorothy estava tentando falar comigo, ou Wesley. Mas o número da mensagem começava com 704, que era o código local para a Carolina do Norte. Marino, pensei, e isso me surpreendeu e animou. Sentei-me na cama e retornei o chamado.
“Alô?” Uma voz feminina atendeu.
Por um momento, fiquei confusa demais para falar.
“Alô?”
“Recebi um recado”, disse. “Este número apareceu no meu pager.”
“Ah! É a doutora Scarpetta?” “Quem fala?” Perguntei, mas já sabia. Ouvira a voz na sala do juiz Begley e na casa de Denesa Steiner.
“É Denesa Steiner”, ela disse. “Lamento ter ligado tão tarde. Ainda bem que consegui encontrá-la.” “Como conseguiu o número do meu pager?” Ele não constava de meu cartão de visitas, pois não gostava que me incomodassem a todo momento. Na verdade, eu o fornecia a poucas pessoas.
“Pete me deu. O capitão Marino. Tudo anda tão difícil para mim... Disse a ele que conversar com a senhora poderia me ajudar. Lamento incomodar.” Tomei um choque ao saber que Marino fora capaz de agir daquela maneira. Bem, mais um exemplo do quanto havia mudado. Pensei que ele poderia estar ao lado da mulher naquele momento. E no que poderia ser tão importante para que ela me chamasse tão tarde.
“Sra. Steiner, em que posso ajudá-la?”, perguntei, pois não poderia ser indelicada com uma pessoa que sofrerá uma perda tão grande.
“Ouvi falar no acidente de automóvel.”
“Como é?”
“Fico contente em saber que a senhora está bem, doutora.”
“Eu não estava no carro”, falei, perplexa e perturbada.
“O motorista era outra pessoa.”
“Ainda bem. Deus está protegendo a senhora. Sabe, é que andei pensando uma coisa...”
“Sra. Steiner”, interrompi, “como ficou sabendo do acidente?”
“Saiu no jornal local, e meus vizinhos comentaram o assunto. As pessoas sabem que a senhora está ajudando Pete. Junto com aquele agente do FBI, o senhor Wesley.”
“O que o jornal publicou, exatamente?” A Sra. Steiner hesitou, constrangida. “Lamento dizer, mas saiu que a senhora foi presa por dirigir embriagada e perder a direção do carro.”
“O jornal de Asheville publicou isso?”
“E depois saiu também no Black Mountain News, e alguém ouviu a história no rádio. Sabe, fico contente em saber que a senhora está bem. Acidentes são terrivelmente traumáticos, e só quem já passou por isso entende como a pessoa se sente. Sofri um acidente grave, quando morava na Califórnia, e ainda tenho pesadelos por causa disso.”
“Lamento”, falei, por não saber o que dizer. Aquela conversa estava muito esquisita.
“Foi à noite, um sujeito mudou de pista e acho que não viu meu carro. Ele bateu na minha traseira e perdi o controle. Atravessei a pista e atingi outro carro. O motorista morreu. Uma senhora, num Volkswagen. Não consegui superar isso até hoje. Lembranças assim marcam a gente.”
“Sim”, falei. “É verdade.”
“Então... andei pensando no que aconteceu com Meia. Bem, foi por isso que eu liguei.”
“Meia?”
“Sim, a gatinha que mataram.” Permaneci em silêncio.
“Sabe, ele fez aquilo, e depois recebi telefonemas.
“Ainda os recebe, senhora Steiner?”
“Alguns. Pete quer que eu compre um localizador de chamadas.”
“Acho uma boa ideia.”
“Estou tentando dizer que essas coisas começaram a acontecer comigo, depois com o detetive Ferguson, depois com Meia, e agora com a senhora, com esse acidente. Fico pensando que os fatos estão ligados. Sempre falo para Pete tomar cuidado, principalmente depois que ele caiu, ontem. Eu havia acabado de passar um pano na cozinha e ele escorregou. Parece uma maldição do Antigo Testamento.”
“Marino está bem?”
“Um pouco dolorido. Poderia ter sido pior, pois ele carrega aquele revólver enorme enfiado na calça, atrás. Ele é uma pessoa tão gentil. Não sei o que faria sem ele.”
“E onde ele está?”
“Dormindo, creio”, ela disse, e eu começava a perceber sua habilidade em desviar das perguntas incômodas.
“Posso dizer a ele para ligar para a senhora, se me der seu número.”
“Ele tem o número do pager”, falei, e senti que Denesa percebera que eu não confiava nela.
“Claro, tudo bem. Certamente ele tem.”
Não dormi depois daquela conversa; por fim liguei para o pager de Marino. Meu telefone tocou minutos depois, mas parou antes que eu pudesse atender. Contatei a recepção imediatamente.
“Por favor, vocês estavam tentando transferir uma ligação para mim?”
“Sim, senhora. Mas a pessoa desligou.”
“Sabe quem era?”
“Não, senhora. Lamento, não tenho ideia.”
“Era homem ou mulher?”
“Quem ligou foi uma mulher.”
“Obrigada.” O susto me fez despertar na hora, pois deduzi logo o que acontecera. Pensei em Marino, dormindo, no pager dele em cima da mesa de cabeceira e na mão dela, que se projetou da escuridão, para pegar o pager. Vendo o número, ela foi para o outro quarto e discou.
Quando descobriu que era o telefone do hotel Hyatt de Knoxville, ela pediu para falar comigo, a fim de verificar se eu estava hospedada lá. Desligou quando a recepção a transferiu para o meu quarto, pois não queria falar comigo. Apenas saber onde eu estava, e havia conseguido. Droga! Knoxville ficava a duas horas de carro de Black Mountain. Bem, ela não viria até aqui, pensei. Mas não me livrei da sensação de insegurança e temia seguir meus pensamentos pelos caminhos sombrios para onde tentavam me levar.
Comecei a telefonar assim que o sol nasceu. O primeiro chamado foi para o investigador McKee, da polícia estadual da Virgínia, e percebi, pela voz empastada, que eu o acordara de um sono profundo.
“É a doutora Scarpetta. Lamento ligar tão cedo”, falei.
“Espere um pouco.” Ele limpou a garganta. “Bom dia. Foi bom ter ligado. Consegui algumas informações.”
“Sensacional”, falei, imensamente aliviada. “Estava torcendo para ouvir isso.”
“É o seguinte. A lanterna é feita de plástico, como a maioria, atualmente. Contudo, conseguimos encaixar os fragmentos na parte que retirou do Mercedes. Além disso, a estrela em um dos pedaços confirmou que era mesmo tudo do seu carro.”
“Certo”, falei. “Já imaginava. E quanto ao vidro do farol?”
“Um pouco mais complicado, mas demos sorte. Analisamos o vidro que nos trouxe e, com base no índice de refração, densidade, design, marca e outros dados identificamos o carro. Um Infiniti J30. Isso nos ajudou a identificar a tinta. Examinamos os Infinitis J30, e encontramos um modelo pintado de verde-claro, chamado Bamboo Mist. Em resumo, doutora Scarpetta, seu carro foi atingido por um Infiniti J30 1993, cor verde, tipo Bamboo Mist.”
Fiquei chocada e confusa. “Meu Deus”, murmurei, sentindo que um arrepio percorria meu corpo.
“É um veículo conhecido?” Ele parecia surpreso.
“Não pode ser.” Eu havia responsabilizado Carrie Grethen e cheguei a ameaçá-la. Tinha tanta certeza.
“Conhece alguém que tenha um carro com estas características?” Ele perguntou.
“Sim.”
“Quem?”
“A mãe de uma menina de onze anos que foi assassinada na Carolina do Norte”, respondi. “Estou envolvida na investigação do caso e tive vários contatos com a pessoa.” McKee não respondeu. Percebi que minhas palavras não faziam muito sentido, para ele.
“Ela não estava em Black Mountain, quando o acidente ocorreu”, prossegui. “Alegou precisar fazer uma visita à irmã doente, no Norte.”
“O carro dela foi danificado”, ele disse. “Se ela provocou o acidente, pode apostar que está providenciando o conserto. Já deve ter mandado arrumar o carro, aposto.”
“Mesmo assim, a tinta deixada no meu carro vai combinar com o dela”, falei.
“Espero que sim.”
“Parece ter dúvidas.”
“Se a pintura do carro for original, e jamais tiver recebido retoques desde a saída da fábrica, podemos ter problemas. A tecnologia automotiva mudou muito. A maioria dos fabricantes de veículos utiliza uma base neutra, que é esmalte poliuretânico. Embora seja mais barato, parece uma coisa luxuosa. E não exige várias camadas.
E a identificação da pintura de um veículo se faz pela sequência de camadas, que é única.”
“Portanto, se fabricaram dez mil Infinitis Bamboo Mist na mesma época, estamos ferrados.”
“Completamente ferrados. Um advogado de defesa dirá que não se pode provar que a tinta veio daquele carro, especialmente no caso de um acidente em rodovia interestadual, usada por pessoas do país inteiro. Portanto, nem adianta verificar quantos Infinitis daquela cor foram enviados a determinadas regiões. E ela não mora na área onde ocorreu o acidente, de qualquer maneira.”
“E quanto à fita da chamada para a emergência?”
“Eles a localizaram e ouviram. A ligação foi feita às oito e quarenta e sete da noite, e sua sobrinha falou: “Isto é uma emergência”. Foi só o que conseguiu, antes de ser cortada por uma série de ruídos e estática. Parecia estar em pânico.”
A novidade era péssima, e não ajudou em nada ligar para a casa de Wesley. A mulher dele atendeu.
“Um momento, vou chamá-lo.” Mostrou-se gentil e educada, como sempre.
Pensei coisas estranhas, enquanto esperava. Se dormiam em quartos separados, ou se ela apenas se levantava mais cedo. e por isso precisava chamá-lo ao telefone, em outro lugar.
Claro, ela poderia estar na cama e ele no banheiro. Minha mente não se afastava disso, e o que eu estava sentindo me enervava. Gostava da mulher de Wesley, mas não queria que fosse mulher dele. Quando Wesley atendeu, tentei manter a voz calma, mas fracassei.
“Kay, espere um pouco”, ele disse, e senti que o acordara também. “Você passou a noite em claro?”
“Mais ou menos. Você precisa voltar para lá, Não podemos confiar em Marino. Se tentarmos entrar em contato com Marino, ela descobrirá.”
“Não pode ter certeza de que foi ela quem ligou.”
“Quem mais poderia ter sido? Ninguém sabe que estou aqui, e deixei o número do hotel no pager de Marino. Poucos minutos depois, ela telefonou.”
“Talvez tenha sido Marino.”
“O recepcionista disse que era voz de mulher.”
“Droga”, Wesley disse. “Hoje é aniversário de Michele.”
“Lamento.” Sentia vontade de chorar, sem saber o motivo. “Precisamos descobrir se o carro de Denesa Steiner foi batido. Alguém precisa verificar isso. Tenho de saber por que ela estava atrás de Lucy.”
“E por que ela estaria atrás de Lucy? Como poderia saber onde Lucy iria naquela noite e o tipo de carro que estaria dirigindo?” Lembrei-me de Lucy ter contado que Marino a aconselhara sobre a compra da arma. Talvez a Sra. Steiner tivesse ouvido a conversa telefônica. Expliquei a teoria a Wesley.
“Lucy determinou um horário para ir até lá, ou parou por impulso, na volta de Quantico?” Ele perguntou.
“Não sei, vou tentar descobrir.” Comecei a tremer de raiva. “Aquela puta. Lucy poderia ter morrido.”
“Você poderia ter morrido, caramba.”
“Filha da puta.”
“Kay, acalme-se e preste atenção.” Ele pronunciou-as palavras lentamente, num tom que pretendia me tranquilizar. “Vou retornar à Carolina do Norte e descobrir que diabos está havendo por lá. Vamos até o fundo desta história, prometo. Mas você precisa sair desse hotel o quanto antes. Quando tempo precisa ficar em Knoxville?”
“Posso ir embora depois da reunião com Katz e o Dr. Shake, na Lavoura de Corpos. Katz vem me pegar às oito. Meu Deus, espero que não esteja mais chovendo. Ainda nem olhei pela janela.”
“Aqui está sol”, ele disse, como se achasse que o sol também deveria estar brilhando em Knoxville. “Se acontecer alguma coisa e você resolver ficar, mude de hotel.”
“Farei isso.”
“E volte logo a Richmond.”
“Não”, falei. “Não posso resolver nada em Richmond. Lucy não está lá. Pelo menos sei que ela está em segurança. Se conversar com Marino, não fale nada a meu respeito. Não diga nenhuma palavra a respeito de Lucy e onde está. Saiba que ele vai contar tudo a Denesa Steiner. Ele está fora de controle, Benton. Conta tudo a ela, agora, Benton. Tenho certeza.”
“Não creio que seja uma boa ideia para você ir à Carolina do Norte no momento.”
“Mas eu preciso.”
“Por quê?”
“Preciso localizar a ficha médica de Emily Steiner. Estudar todos os detalhes. Gostaria também que você investigasse todos os lugares onde Denesa Steiner morou. Quero saber tudo sobre outros maridos, filhos, irmãos. Pode haver outras mortes. Talvez seja preciso exumar outros corpos.”
“No que está pensando?”
“Para começo de conversa, aposto que vai descobrir que não existe nenhuma irmã doente em Maryland. Seu objetivo, ao ir para o Norte, era jogar meu carro para fora da estrada e torcer para que Lucy morresse.” Wesley não disse nada. Senti que vacilava, e não gostei. Temia dizer o que realmente passava por minha cabeça, mas não podia permanecer em silêncio.
“Até agora, não há nenhum registro de SIDS referente à primeira filha. O pessoal dos registros não consegue encontrar nada, na Califórnia. Nem mesmo sei se a criança existe, e isso se encaixa no padrão.”
“Que padrão?
“Benton”, falei, “não podemos afirmar que Denesa Steiner não matou a própria filha.” Ele tomou fôlego, audivelmente.
“Tem razão. Não sabemos isso. Não sabemos quase nada.”
“E Mote declarou, na reunião, que Emíly vivia adoentada.”
“Onde quer chegar?”
“Munchausen, pela mãe.”
“Kay, ninguém acreditaria nisso. Nem sei se eu quero acreditar.”
Eu me referia a uma síndrome quase inacreditável, na qual pessoas responsáveis pelos cuidados – mães, em geral – maltratam os filhos secreta e habilmente, para conseguir atenção. Cortam a carne, fraturam os ossos, intoxicam e sufocam as crianças, até quase matá-las. Depois essas mulheres correm para os consultórios e prontos-socorros, contando histórias comoventes sobre o modo como o filho querido ficou doente ou se machucou, e todos sentem pena da mãe. Ela recebe todas as atenções. Torna-se especialista em manipular profissionais de saúde, e o filho pode até morrer.
“Imagine a atenção que a senhora Steiner recebeu, por conta do assassinato da filha”, falei.
“Não discuto este ponto. Mas como Munchausen explica a morte de Ferguson, ou o que você alega ter acontecido com Lucy?” “Uma mulher capaz de fazer o que foi feito a Emily poderia fazer qualquer coisa, a qualquer um. Além disso, talvez a Sra.Steiner não tenha mais parentes disponíveis para assassinar. Ficaria surpresa se descobrisse que o marido realmente morreu de ataque do coração. Ela provavelmente o matou, de algum modo ladino, disfarçado. Essas mulheres são mentirosas patológicas. Incapazes de remorso.”
“O que você sugere vai além de Munchausen. Está falando de assassinatos em série.”
“Os casos não podem ser confinados a uma única categoria, Benton, porque as pessoas não cabem numa única categoria. E as mulheres que matam em série costumam escolher maridos, parentes, amigos. Os métodos costumam diferir dos escolhidos pelos serial killers do sexo masculino. Mulheres psicopatas não estrangulam e violentam estranhos. Gostam de veneno. Gostam de sufocar pessoas que não podem se defender, por serem muito pequenas, idosas ou incapacitadas por qualquer motivo. Suas fantasias são diferentes, porque as mulheres são diferentes dos homens.”
“Ninguém de lá vai acreditar no que você está dizendo”, Wesley disse. “Vamos penar um bocado para provar isso, se você tiver razão.”
“Casos assim sempre são difíceis de provar.”
“Está sugerindo que eu apresente esta possibilidade a Marino?”
“Espero que não faça isso. Não gostaria que a senhora Steiner soubesse o que andamos pensando. Preciso interrogá-la. Quero que ela coopere.”
“Concordo”, ele disse, e soube que foi muito difícil a Benton acrescentar, “na verdade, não podemos permitir que Marino continue trabalhando neste caso. No mínimo, ele mantém um envolvimento pessoal com um suspeito em potencial. Pode estar dormindo com uma assassina.”
“Exatamente como o último investigador”, lembrei-o.
Ele não respondeu. Nossos temores pela segurança de Marino não precisavam ser explicitados. Max Ferguson morrera e a impressão digital de Denesa Steiner estava numa peça de roupa que ele usava no momento da morte. Teria sido simples induzi-lo a participar de uma fantasia sexual e depois chutar o banquinho em que estava.
“Odeio que você esteja tão profundamente envolvida nisso tudo, Kay”, Wesley disse.
“Este é um dos problemas de nos conhecermos tão bem”, falei. “Também odeio isso. Preferiria que você não estivesse envolvido.”
“É diferente. Você é mulher, e médica. Se tiver razão, vai fazer soar o alarme dentro de Denesa. Ela tentará incluí-la no jogo.” “Acho que já me incluiu.”
“Vai querer puxá-la para o fundo.”
“Espero que tente.” Senti raiva novamente.
Ele sussurrou: “Quero ver você”.
“Verá”, falei. “E logo.”
18
O Setor de Pesquisa em Deterioração da Universidade do Tennessee era conhecido simplesmente como Lavoura de Corpos, desde que eu me conhecia por gente. Pessoas como eu não pretendiam ser irreverentes ao usar o apelido, pois ninguém mais do que nós respeita mais os mortos, pois trabalhamos com eles e aprendemos a ouvir suas histórias silenciosas. Nosso objetivo é ajudar os vivos.
Com este objetivo, a Lavoura de Corpos foi fundada vinte anos atrás. Os cientistas precisavam saber mais a respeito da hora da morte. Num dia comum, os vários hectares de mata abrigavam dúzias de cadáveres em variados estágios de decomposição. Projetos de pesquisa exigiam minha presença periódica ali havia anos, e, embora eu nunca tivesse me considerado perfeita para determinar a hora de uma morte, havia melhorado bastante.
A Lavoura era propriedade e responsabilidade do Departamento de Antropologia da Universidade, comandado pelo Dr. Lyall Shade, curiosamente situado no porão de um estádio de futebol. Katz e eu descemos às oito e quinze, passando pelos laboratórios de zooarqueologia de moluscos e primatas neotropicais, pelas coleções de saguis e micos, pelos projetos estranhos, identificados apenas por algarismos romanos. Várias portas estavam enfeitadas com cartões humorísticos e citações que me fizeram rir.
Encontramos o Dr. Shade em sua mesa, estudando fragmentos de um osso humano calcinado.
“Bom dia”, falei.
“Bom dia, Kay”, ele disse, com um sorriso distraído.
Dr. Shade fazia jus ao nome*, por muitas razões além da irônica. Ele realmente comungava com os espectros dos mortos, por intermédio de sua carne, seus ossos e das revelações que faziam após meses de exposição no campo. Era discreto e introvertido, um espírito cordial muito mais idoso do que seus sessenta anos. O cabelo grisalho bem curto emoldurava um rosto agradável e preocupado. *Shade significa sombra, trevas, inferno, fantasma. (N. T.)
Alto, exibia o corpo rijo e castigado de um fazendeiro, outra ironia, pois um de seus apelidos era Lavrador. A mãe vivia numa casa de repouso e fazia-lhe anéis para crânios com restos de tecido. Os que me enviara pareciam roscas de morim, mas funcionavam bem no trabalho com os crânios, cujo formato arredondado os tornava propensos a rolar, independentemente de quem tivesse sido o dono do cérebro que um dia abrigaram.
“O que temos aqui?” Aproximei-me dos fragmentos de ossos, que mais pareciam lascas de madeira queimada.
“Uma mulher assassinada. O marido tentou queimá-la depois que a matou, e foi muito competente. Melhor do que o crematório, na verdade. Mas cometeu um erro estúpido. Fez a fogueira no quintal.”
“Sim, diria que foi mesmo estupidez. Como a que fazem estupradores que deixam cair a carteira no local do crime.”
“Tive um caso assim, certa vez”, Katz disse. “Achei uma impressão digital no carro da vítima, e estava todo orgulhoso, quando me contaram que o sujeito havia deixado cair a carteira no banco de trás. A impressão não foi necessária, é claro.”
“Como vai indo seu equipamento?”, Dr. Shade perguntou a Katz.
“Não ficarei rico com ele.”
“Ele conseguiu uma impressão ótima em uma calcinha”, falei.
“O sujeito deixou uma ótima impressão, sem dúvida, vestido daquele jeito.” Katz sorriu. Gostava de brincar, às vezes.
“Sua experiência ficou pronta e estou louco para dar uma olhada”. Shade levantou-se da cadeira.
“Ainda não a viram?”, perguntei.
“Hoje, ainda não. Queríamos esperar sua chegada, para a observação final.”
“Claro, sempre fazem isso”, disse-lhe.
“E sempre faremos, exceto se não quiser estar presente. Certas pessoas preferem não ver.”
“Sempre prefiro estar presente. Caso contrário, seria melhor mudar de profissão.”
“O tempo cooperou bastante”, Katz acrescentou. “Esteve perfeito”, Katz declarou, animado. “Exatamente como deveria estar no intervalo entre o desaparecimento da menina e a localização do corpo. Demos sorte com os cadáveres também, pois precisávamos de dois e até o último minuto achava que seria difícil consegui-los. Sabe como é.”
Eu sabia.
“Recebemos mais do que precisamos, às vezes. Depois, não vem nenhum”, Dr. Shade concluiu.
“Os dois que conseguimos têm uma história triste”, Katz disse, quando subíamos a escada.
“Todos têm”, falei.
“É verdade. E como. Ele tinha câncer e ligou para saber se poderia doar o corpo à ciência. Dissemos que sim, e ele preencheu os formulários. Depois foi para o mato e deu um tiro na cabeça. A esposa, que não estava bem, tomou um frasco de Nembutal.”
“E foram eles?” Meu coração pareceu sair do compasso, por um momento, como costumava ocorrer quando eu ouvia histórias como aquela.
“Aconteceu logo depois de você nos dizer o que pretendia fazer”, Dr. Shade disse. “Coincidência interessante, pois não tínhamos nenhum cadáver recente. Aí o sujeito ligou, coitado. Bem, eles deram uma bela contribuição.”
“Sim, sem dúvida.” Gostaria de poder agradecer às pessoas doentes que queriam morrer porque a vida se acabava aos poucos, de forma insuportavelmente dolorosa. Saímos e entramos num caminhão branco, com o emblema da universidade e a traseira fechada, que Katz e o Dr. Shade usavam para recolher cadáveres doados ou abandonados e levá-los ao local para onde iríamos a seguir. Era uma manhã clara, limpa, e se Calhoun não me tivesse ensinado uma lição sobre o fanatismo dos fãs do futebol, teria chamado o céu de azul-carolina.
Os morros sucediam-se até o sopé dos montes Smoky, as árvores brilhavam ao sol e pensei nos barracos que vira na estrada de terra, perto do portão de Montreat. Pensei em Deborah e seus olhos vesgos. Pensei em Creed. Em certos momentos, espantava-me que o mundo fosse tão esplêndido e horrível ao mesmo tempo. Creed Lindsey iria para a cadeia, se não tomássemos providências urgentes. Eu temia pela vida de Marino; não queria que minha última lembrança dele fosse uma cena similar à de Ferguson.
Conversamos no caminho, passando pela fazenda da faculdade de veterinária e campos plantados com trigo e milho, usados na pesquisa agrícola. Pensei em Lucy, em Edgehill, e temi por ela também. Eu acho que temia por todas as pessoas a quem amava. E, mesmo assim, era tão reservada, tão lógica. Talvez minha maior vergonha fosse não conseguir mostrar o que sentia, e me preocupava que as pessoas não soubessem o quanto me importava com elas. Corvos ciscavam na beira da estrada; o sol que entrava pelo para-brisa me ofuscava.
“O que achou das fotos que eu mandei?”, perguntei.
“Estão comigo”, o Dr. Shade disse. “Colocamos uma série de objetos sob os corpos, para ver o que acontecia.”
“Pregos e um ralo de ferro”, Katz disse. “Uma tampinha de garrafa. Moedas e outros itens de metal.”
“Por que de metal?”
“Temos quase certeza de que era algo metálico.”
“Já sabiam, antes do experimento?”
“Sim”, Dr. Shade disse. “Ela estava em cima de um objeto que começava a oxidar. Ou melhor, oxidar em contato com o corpo, depois de morto.”
“Como, por exemplo? O que poderia deixar uma marca como aquela?”
“Realmente, não sei. Saberemos mais em quinze minutos. Mas a descoloração que causou aquela marca estranha na nádega da menina veio de um objeto que se oxidava enquanto ela permanecia em cima dele. É o que penso.”
“Espero que a imprensa não esteja por aqui”, Katz disse. “Passamos maus bocados com eles. Especialmente nesta época do ano.” “Por causa do dia das bruxas”, falei.
“Você nem imagina. Já penduraram os corpos no arame farpado. Precisamos ir buscá-los no hospital. Da última vez, foram os estudantes de direito.” Entramos no estacionamento, que nos meses mais quentes deveria ser muito desagradável para os funcionários do hospital que prestavam serviço ali. Uma cerca de madeira sem pintura, com arame farpado no alto, começava no final da área pavimentada. Do outro lado, ficava a Lavoura de Corpos. Um cheiro ruim parecia escurecer o sol, quando descemos. Por mais que sentisse aquele odor, nunca me acostumava a ele. Aprendera a bloqueá-lo, sem o ignorar. Nunca diminuía, nem com charutos, perfumes ou Vick. Os odores faziam parte da linguagem dos mortos, assim como tatuagens e cicatrizes.
“Quantos residentes há hoje?”, perguntei, quando o Dr. Shade estava digitando a combinação para abrir o sistema que protegia o portão.
“Quarenta e quatro”, ele disse.
“Estão aqui há bastante tempo, com exceção dos seus”, Katz acrescentou. “Os dois últimos chegaram há exatamente seis dias.” Acompanhei os dois homens ao seu bizarro porém indispensável domínio. O cheiro não incomodava tanto assim, pois o ar estava muito frio e a maioria dos cadáveres já passara pelos piores estágios. Mesmo assim, as visões eram tão anormais que sempre me faziam parar. Vi uma carroça de transportar corpos, parada, uma maca e pilhas de barro vermelho. Havia poços revestidos de plástico preto, cheios de água, onde os corpos apodreciam submersos, presos a blocos de cimento. Carros velhos, enferrujados, guardavam surpresas nos porta-malas, ou atrás do volante. Um Cadillac branco, por exemplo, era dirigido pelo esqueleto de um homem.
Claro, não faltavam corpos no solo, mas eles se mesclavam tão bem ao ambiente que eu talvez nem os percebesse, não fosse pelo dente de ouro a reluzir, ou pelas mandíbulas abertas. Ossos pareciam gravetos e pedras, e as palavras não mais machucariam os habitantes do local, exceto no caso dos membros amputados, cujos doadores, eu esperava, ainda estavam entre os vivos.
Um crânio sorria para mim, sob uma amoreira, e o furo do tiro, entre as órbitas, parecia um terceiro olho. Vi um caso perfeito de dentes rosados (provavelmente causado por hemólise, uma questão ainda controversa nos simpósios sobre medicina forense). Havia nozes por toda parte, mas eu não me atreveria a comer uma delas, pois a morte saturava o solo e os fluidos corporais tingiam as encostas. A morte estava na água e no vento, subia até as nuvens. Chovia morte na Lavoura, e os insetos e animais se fartavam dela. Nem sempre terminavam a refeição iniciada, pois o suprimento era vasto demais.
Katz e o Dr. Shade criaram duas situações para mim. Na primeira, simularam a presença de um cadáver num porão, monitorando as alterações post-mortem que ocorrem em condições de frio e escuridão. Na segunda, colocaram um corpo ao relento, nas mesmas condições, por um período idêntico.
A experiência do porão foi realizada no único prédio da Lavoura, que era na verdade um barracão de blocos. Nosso colaborador, o marido com câncer, foi colocado sobre uma plataforma de concreto, lá dentro, e protegido dos predadores e mudanças climáticas com uma caixa de madeira compensada. O Dr. Shade me mostrou as fotografias tiradas diariamente. Nos primeiros dias não identifiquei praticamente nenhuma mudança no corpo. Depois, notei que os olhos e os dedos começavam a secar.
“Está pronta para ir adiante?”, o Dr. Shade perguntou.
Guardei as fotos no envelope. “Vamos dar uma espiada.” Eles levantaram a caixa e eu me agachei ao lado do corpo, para estudá-lo detalhadamente. O marido era um sujeito miúdo, magro, que morrera com uma barbicha branca no queixo e uma tatuagem de âncora no braço, igualzinha à do Popeye. Depois de seis dias em sua cripta de compensado, tinha olhos fundos, pele amolecida e descoloração no lado esquerdo inferior do corpo.
A mulher, por sua vez, não se conservara tão bem, embora as condições climáticas lá fora fossem muito similares às de dentro do barracão. Mas chovera, uma ou duas vezes, segundo meus colegas. Ela ficara exposta ao sol, também. E as penas dos urubus que vi ao redor explicavam parte dos danos. A descoloração do corpo estava bem mais pronunciada e a pele lisa, solta, nem um pouco amolecida.
Observei-a silenciosamente, por algum tempo, na área coberta de mata próxima ao barracão, onde ela estava deitada de costas, despida, sobre as folhas caídas das acácias, nogueiras e paus-ferro que a rodeavam. Parecia mais velha que o marido. De tão mirrado e recurvado pela idade, seu corpo revertera a uma condição quase infantil e andrógina. As unhas estavam pintadas de rosa e ela usava dentadura. Tinha as orelhas furadas.
“Podemos virá-lo, se quiser dar uma olhada”, Katz gritou.
Retornei ao barracão, e me agachei novamente ao lado do marido, enquanto o Dr. Shade apontava a lanterna para as marcas nas costas. O padrão deixado por um ralo de ferro era fácil de reconhecer, mas os pregos produziram listras vermelhas retas, que mais pareciam queimaduras. As marcas deixadas pelas moedas nos fascinaram mais ainda, especialmente a produzida pelo quarto de dólar. Examinando de perto, dava para distinguir parte da silhueta da águia na pele do homem. Peguei as fotos de Emily, para fazer as comparações.
“Observamos”, o Dr. Shade disse, “que as impurezas do metal fazem com que a moeda oxide de modo irregular, enquanto o corpo está por cima dela. Portanto, obtemos áreas em branco, uma impressão irregular. Ocorre o mesmo com uma pegada, que normalmente não é completa, a não ser que o peso se distribua uniformemente e a pessoa esteja numa superfície perfeitamente plana.”
“Eles tentaram incrementar eletronicamente as fotos de Steiner?”, Katz perguntou.
“O laboratório do FBI está trabalhando no caso”, falei.
“Bem, eles costumam ser muito lentos”, Katz disse. “Têm muito serviço, e a coisa só piora, pois o número de casos não para de aumentar.”
“E você sabe a quantas anda a questão das verbas...”
“A nossa já está no osso.”
“Thomas, você não perde uma chance, mesmo. Que mau gosto!”
Na verdade, eu havia pago a madeira compensada do meu bolso, para a realização daquela experiência. Oferecera um ar-condicionado também. Mas por causa do tempo frio ele não havia sido necessário.
“É difícil interessar os políticos pelo que fazemos aqui. Ou pelo seu serviço, Kay.”
“Nosso problema é que os mortos não votam”, falei.
“Sei de muitos casos em que eles votam sim.”
Voltei pela estrada Neyland, e acompanhei os meandros do rio com os olhos. Numa curva consegui ver o topo da cerca da Lavoura, acima da linha das árvores, e pensei no rio Estige. Pensei em cruzá-lo, para o Hades, acabar no mesmo lugar que o casal usado em nossa pesquisa. Agradeci-lhes, mentalmente, pois os mortos formavam um exército silencioso que eu convocava para salvar a nós todos.
“Uma pena que não tenha podido vir antes”, Katz disse, sempre gentil.
“Perdeu um jogão, ontem.”
“É, mas eu me sinto como se o tivesse visto”, falei.
19
Não segui o conselho de Wesley: voltei ao mesmo quarto no Hyatt. Não queria passar o resto do dia mudando para outro hotel, tendo tantos telefonemas a dar, antes de pegar o avião.
Estava alerta, porém, ao cruzar o lobby e entrar no elevador. Examinava todas as mulheres e logo me dei conta de que deveria prestar atenção aos homens também, pois Denesa Steiner era muito esperta. Dedicara a maior parte da vida a esquemas incríveis de dissimulação, e eu sabia o quanto o mal podia ser inteligente.
Ninguém me chamou a atenção, até que eu entrasse apressada no quarto. Mesmo assim, tirei o revólver da mala que deixara no guarda-bagagem. Permaneceu a meu lado, enquanto telefonava. Comecei ligando para o Green Top, e a pessoa que me atendeu, Jon, foi muito gentil. Já me conhecia de outras vezes, e eu não hesitei em fazer perguntas delicadas sobre minha sobrinha.
“A senhora não sabe o quanto lamento tudo isso”, ele repetiu.
“Não pude acreditar, quando li no jornal.”
“Ela está bem”, falei. “O anjo da guarda estava com ela, naquela noite.”
“Ela é uma moça muito especial. Deve se orgulhar de Lucy.” Não tinha mais certeza disso, pensei, o que fez com que me sentisse péssima. “Jon, preciso saber alguns detalhes importantes. Você estava trabalhando, quando ela comprou o Sig naquela noite?” “Claro. Eu mesmo lhe vendi a arma.”
“Ela levou mais alguma coisa?”
“Um pente extra, várias caixas de balas. Hummm... Creio que foram Federal Hydra-Shok. É, foi isso mesmo, com certeza. Também quis um coldre Uncle Mike, e um outro, de tornozelo, igual ao que a senhora comprou na primavera. De couro Bianchi, coisa de primeira.”
“E como ela pagou?”
“Em dinheiro vivo, o que me surpreendeu um pouco, para ser sincero. A conta saiu meio alta, como pode imaginar.” Lucy sempre soubera economizar dinheiro e eu havia lhe dado um cheque substancial, quando completou vinte e um anos. Mas tinha cartões de crédito, e presumi que não os usou para não haver registro da compra, o que não chegava a me surpreender. Seu medo beirava a paranoia, como costuma ocorrer com pessoas envolvidas com o serviço policial. Para gente como nós, todos parecem suspeitos. Desenvolvemos uma tendência a reações exageradas, a olhar sempre por cima do ombro, a apagar a trilha quando percebemos a mais sutil ameaça.
“Lucy marcou hora ou simplesmente apareceu aí?”
“Ela ligou antes, avisando a hora em que passaria aqui. Na verdade, telefonou de novo, para confirmar.”
“Falou com você, nas duas ocasiões?”
“Não, só na primeira. Na segunda, Rick atendeu o telefone.”
“Pode me contar o que ela disse, exatamente, quando ligou?”
“Mais ou menos. Ela contou que havia conversado com o capitão Marino, e ele recomendara que me procurasse e adquirisse um Sig P230. Como deve saber, o capitão e eu costumamos sair para pescar. Bem, ela perguntou se eu estaria por aqui às oito da noite, na quarta-feira.”
“Você saberia me dizer quando ela ligou?”
“Um ou dois dias antes de vir. Na segunda-feira, eu acho. Sabe, eu perguntei a ela se já havia completado vinte e um anos.”
“Ela disse que era minha sobrinha?”
“Sim, e sem dúvida é muito parecida com a senhora – até as vozes são semelhantes, no tom grave, calmo. Ela me impressionou muito, ao telefone. Muito inteligente e educada. Parecia familiarizada com armas e disse ter treinado bastante. Bem, ela falou que o capitão lhe deu algumas aulas.” Senti um certo alívio ao saber que Lucy se identificara como minha sobrinha. Isso indicava que ela não se preocupava muito com a possibilidade de eu descobrir que adquirira uma arma. Suponho que Marino teria me contado, mais dia menos dia. Só me entristecia que ela antes não tivesse falado comigo a respeito.
“Jon”, prossegui, “você disse que ela ligou de novo. Pode me falar sobre isso? Quando foi, por exemplo?”
“Na mesma segunda-feira. Horas depois.”
“E ela falou com Rick?”
“Rapidamente. Lembro-me de que eu estava atendendo um cliente e que Rick falou com ela. Ele disse que era Scarpetta e que ela não se recordava de quando havia marcado para passar aqui. Falei que seria na quarta-feira, às oito, e ele a avisou. Foi só isso.” “Espere um pouco”, falei. “O que foi que ela disse?” Jon hesitou.
“Não entendi o que deseja saber, exatamente.”
“Lucy identificou-se como Scarpetta, quando ligou pela segunda vez?”
“Foi o que Rick me disse. Ele só falou que Scarpetta estava ligando.”
“O sobrenome dela não é Scarpetta.”
“Nossa”, ele disse, após uma pausa espantada. “Deve estar brincando. Bem, como eu poderia saber? Puxa, isso é muito esquisito.” Imaginei Lucy enviando uma mensagem para o pager de Marino, que ligou de volta, provavelmente da casa de Steiner. Ora, Denesa Steiner deve ter pensado que ele estava falando comigo. Não foi difícil, para ela, esperar que Marino saísse da sala antes de pedir o número da Green Top para o auxílio à lista. Depois, foi só telefonar e se passar por mim. Senti uma estranha mistura de alívio e fúria. Denesa Steiner não tentara assassinar Lucy, nem ela nem Carrie Grethen ou qualquer outra pessoa. A intenção era me matar.
Fiz a última pergunta a Jon. “Não quero complicar sua vida, entenda, mas preciso saber se Lucy parecia embriagada quando comprou a arma.”
“Se estivesse embriagada, eu não teria vendido nada.”
“Como foi o comportamento dela?”
“Estava com pressa, mas animada, fazendo brincadeiras. Foi muito gentil.”
Se Lucy andava bebendo demais nos últimos meses, como eu suspeitava, teria um índice de um ponto dois, e daria a impressão de estar sóbria. Mas seus julgamentos e reflexos estariam prejudicados. Ela não conseguiria reagir adequadamente ao que ocorrera na estrada. Desliguei e peguei o número do Asheville-Citizen Times; soube pela editoria local que o nome da repórter que cobrira o acidente era Linda Mayfair. Dei sorte, pois ela estava na redação, e logo me atendeu.
“Aqui é a doutora Kay Scarpetta”, falei.
“Puxa vida. Em que posso ajudá-la?” Tive a impressão de que ela era muito jovem.
“Gostaria de saber algumas coisas sobre uma reportagem que você fez. Aquela envolvendo meu carro, na Virgínia. Sabe que errou ao publicar que eu estava dirigindo e que fui presa por dirigir embriagada?” Falei pausadamente, mas com firmeza.
“Sim, senhora. Lamento muito, mas gostaria de explicar o que aconteceu. Alguém mandou uma mensagem pelo teletipo, bem tarde, na noite em que ocorreu o acidente. Só informava que um Mercedes de sua propriedade havia sido identificado e que o motorista provavelmente estaria alcoolizado. Eu estava fechando uma página, quando o editor me mostrou o boletim da agência noticiosa.
Disse para publicar, se eu conseguisse confirmar que a senhora estava dirigindo. Bem, como era hora de fechar, eu não tinha como fazer isso. Então, de surpresa, atendo uma ligação em minha mesa. É uma senhora, que se apresenta como sua amiga, telefonando de um hospital na Virgínia. Ela queria avisar que a senhora não havia sofrido ferimentos sérios no acidente. Ela achou melhor nos avisar, pois a doutora Scarpetta – a senhora – tinha vários colegas trabalhando no caso Steiner, aqui na região. Ela disse que estava avisando para evitar que recebêssemos informações erradas e acabássemos assustando seus colegas, quando lessem o jornal.” “E você confiou na palavra de uma estranha e publicou uma história daquelas?”
“Ela forneceu o nome e número de telefone. Verificamos tudo. Se não fosse conhecida sua, como saberia a respeito do acidente e que estava trabalhando no caso Steiner?”
Ela saberia de tudo, se fosse Denesa Steiner, numa cabine telefônica na Virgínia, após a tentativa de me matar.
“E como você verificou se ela dizia a verdade?”, perguntei.
“Liguei de volta, e ela atendeu. Era um número na Virgínia, percebi pelo código da área.”
“Ainda tem este número?”
“Bem, acho que sim. Deve estar no meu bloco.”
“Poderia tentar localizá-lo?” Ouvi o ruído de páginas sendo viradas e de passos. Um longo minuto se passou e ela me forneceu o número.
“Muito obrigada. Espero que tenham publicado uma retificação”, disse-lhe, e percebi que a intimidara. Senti pena dela, pois não acreditava que tivesse havido intenção de me prejudicar. Era jovem e inexperiente, não era páreo para uma psicopata decidida a brincar comigo.
“Publicamos a retificação no dia seguinte. Posso mandar uma cópia para a senhora.”
“Não será necessário”, disse, e me recordei dos repórteres que apareceram durante a exumação. Sabia quem havia dado a dica a eles. A Sra. Steiner. Ela não perderia a chance de chamar atenção.
O telefone tocou por muito tempo, quando disquei o número fornecido pela repórter. Finalmente, uma voz masculina atendeu.
“Alô? Por favor?”
“Sim?”
“Bem, eu preciso saber onde está esse telefone.”
“Qual telefone? O meu ou o seu?” O sujeito riu. “Porque, se for o seu, você está mal mesmo.”
“O seu.”
“Estou num telefone público, na frente de um supermercado Safeway. Ia ligar para minha mulher e perguntar qual sabor de sorvete devo levar, pois ela se esqueceu de dizer. O telefone tocou, aí resolvi atender.”
“Qual Safeway?”, perguntei. “Onde?”
“Na rua Cary.”
“Em Richmond?”, perguntei, horrorizada.
“É, isso mesmo. Onde você está?” Agradeci e desliguei. Comecei a andar de um lado para outro, no quarto. Ela havia ido a Richmond. Por quê? Para ver onde eu morava? Teria passado de carro na frente de minha casa? Olhei para fora, vendo a tarde clara, o céu azul e as cores fortes das folhas, que me diziam que nada daquilo podia estar acontecendo. Nenhuma força obscura maligna agia no mundo, nada do que eu estava descobrindo era real. Mas eu sentia a mesma descrença quando o tempo estava bom, a neve caía ou a cidade se alegrava com as cores e músicas natalinas. Então, na manhã seguinte, eu entrava no necrotério e encontrava mais cadáveres. Gente estuprada, assassinada ou morta em acidentes absurdos.
Antes de sair do quarto tentei falar com o laboratório do FBI e fiquei surpresa ao saber que o cientista para quem eu pretendia deixar um recado estava lá. Mas, como ocorre a muitos de nós, cuja vida se resume ao trabalho, fins de semana são para os outros.
“Bem, fiz o possível”, ele disse, sobre o tratamento de imagem da foto, a que se dedicava havia vários dias.
“E não conseguiu nada?”, perguntei, desapontada.
“Consegui alguma coisa. A imagem melhorou um pouco, mas não dá para reconhecer o que há ali, seja o que for.”
“Quanto tempo ainda vai ficar aí no laboratório?”
“Mais uma ou duas horas.”
“Onde mora?”
“Aquia Harbor.” Eu não gostaria de viajar tanto, diariamente. No entanto, um número surpreendente de agentes de Washington e suas famílias moravam lá, em Stafford e em Montclair.
Aquia Harbor ficava a cerca de meia hora do local onde Wesley vivia.
“Lamento pedir isso”, falei. “Mas é extremamente importante. Preciso de uma reprodução em papel da imagem tratada, o quanto antes. Você não poderia deixá-la na casa de Benton Wesley? Sei que precisará desviar de seu caminho, mas não demorará mais do que uma hora, no total.” Ele hesitou, antes de dizer: “Posso fazer isso, se sair agora. Ligarei para ele e pedirei que me ensine o caminho”.
Peguei minha mala. Só guardei o revólver na valise quando estava trancada no banheiro feminino do aeroporto de Knoxville. Passei pela rotina de identificar o conteúdo da mala que despachei. Ela foi marcada com uma tarja cor de laranja que me fez lembrar novamente da fita adesiva. Fiquei pensando em como Denesa Steiner conseguira a fita alaranjada berrante, e por que motivo. Não via razão para nenhuma ligação entre ela e Attica, e concluí, enquanto cruzava a pista asfaltada até o avião turbo-hélice, que a penitenciária nada tinha a ver com aquele caso.
Ocupei meu lugar no corredor e me distraí tanto com meus pensamentos que não notei a tensão entre os vinte e tantos passageiros, até me dar conta da presença da polícia a bordo. Um dos policiais conversava com uma pessoa em terra e seus olhos percorriam as faces dos passageiros, discretamente. Comecei a fazer o mesmo, entrando no espírito da situação. Conhecia os procedimentos muito bem, e minha mente começou a funcionar depressa, imaginando que tipo de fugitivo procuravam e o que ele poderia ter feito. Pensei em como agiria, se ele de repente pulasse do assento. Eu o derrubaria. Algemaria seu braço por trás, quando passasse.
Contei três policiais suados e ofegantes; um deles parou bem ao meu lado e seus olhos baixaram até meu cinto. A mão desceu sutilmente até a pistola semiautomática e soltou a presilha. Não me mexi.
“Senhora”, ele disse, no tom policial mais oficial possível, “gostaria que me acompanhasse.” Fiquei chocada.
“São suas estas malas aqui no chão?”
“Sim.” Senti a adrenalina subir imediatamente. Os outros passageiros permaneceram absolutamente imóveis.
O policial abaixou-se depressa, pegando minha bolsa e a mala de mão, sem tirar os olhos de mim. Levantei-me e fui levada para fora. Imaginei que alguém havia colocado drogas em minha bagagem. Denesa Steiner, pensei, e olhei em volta, para a pista, para as vidraças do terminal. Procurava alguém que estivesse olhando para mim. Uma mulher oculta nas sombras, acompanhando a mais recente dificuldade que criara para mim.
Um funcionário do aeroporto, de jaqueta vermelha, apontou para mim: “É ela!”, falou, excitado.
“Está no cinto!” Entendi, de repente, do que se tratava.
“É só o meu telefone.” Ergui lentamente os braços, para que vissem o telefone sob o casaco. Como usava calça comprida com frequência, costumava carregar o telefone portátil no cinto, para não precisar vasculhar a bolsa atrás dele.
Um dos policiais ergueu os olhos. O funcionário estava apavorado.
“Sinto muito”, disse. “Achei que era uma nove-milímetros. Já tive contato com o pessoal do FBI antes, e ela tem cara de agente.” Apenas o encarei.
“Senhora”, um dos policiais disse, “tem alguma arma de fogo na bagagem de mão?”
Balancei a cabeça. “Não.”
“Lamentamos muito. Ele pensou que levava uma arma e, quando o piloto checou a lista de passageiros, não encontrou ninguém autorizado a portar arma dentro do avião.”
“Alguém lhe disse que eu estava armada?”, perguntei ao sujeito de agasalho. “Quem foi?” Olhei em volta.
“Ninguém. Não me disseram nada. Pensei ter visto uma arma, quando a senhora passou”, ele explicou, desolado. “Por causa da capinha preta. Sinto muito, mesmo.”
“Tudo bem”, falei, esforçando-me para ser gentil. “Estava fazendo seu trabalho.”
Um dos policiais falou: “A senhora pode voltar para o avião”.
Quando voltei ao meu lugar, os joelhos tremiam tanto que quase se chocavam e senti os olhos de todos fixados em mim. Não olhei para ninguém e tentei ler o jornal.
O piloto mostrou bom humor, ao explicar o atraso gerado pelo incidente.
“Ela estava armada com um telefone celular de nove milímetros”, falou, e todos riram.
Não poderia responsabilizá-la por aquele problema, mas me dei conta, com assustadora clareza, de que imediatamente presumira que Denesa Steiner causara o problema.
Ela estava controlando minha vida. As pessoas que eu amava transformaram-se em peões de seu jogo. Ela conseguira dominar meus pensamentos e ações, e estava sempre nos meus calcanhares. A revelação provocou náuseas.
Fez com que eu me sentisse meio louca. Um toque suave em meu braço fez com que eu desse um pulo.
“Sentimos muito o ocorrido”, disse uma aeromoça, gentilmente. Ela era bonita, loira, de cabelos encaracolados. “Gostaria de tomar um drinque?”
“Não, obrigada”, falei.
“Quer um salgadinho? Infelizmente, só temos amendoim.”
Balancei a cabeça. “Não se preocupe. Compreendo que seja necessário tomar providências para garantir a segurança dos passageiros.” Enquanto falava as palavras adequadas para mostrar que era compreensiva, minha mente voava por outras paragens.
“Ficamos contentes em saber que a senhora levou tudo na esportiva.” Pousamos em Asheville ao crepúsculo, e minha mala surgiu na esteira da pequena sala de bagagem. Segui para o toalete feminino, e transferi a arma para a bolsa. Na rua, chamei um táxi. O motorista era um senhor idoso, de gorro tricotado enterrado até o pescoço. A jaqueta de náilon era velha, puída nos punhos, e as mãos enormes pareciam desacostumadas ao volante. Ele guiava com prudência, em baixa velocidade, e fez questão de deixar bem claro que Black Mountain ficava muito longe. Preocupava-se comigo, pois a corrida chegaria aos vinte dólares. Fechei os olhos, que começavam a lacrimejar, sem dúvida por causa do aquecimento, ligado no máximo para afugentar o frio.
O barulho dentro do velho Dodge vermelho e branco era de avião, pensei, enquanto seguíamos para uma cidade que havia sido profundamente ferida, sem se dar conta disso. Os moradores jamais poderiam sequer começar a entender o que realmente acontecera à menina que voltava para casa com seu violão. Eles tampouco compreendiam o que estava ocorrendo conosco, que fomos convocados para ajudar.
Estávamos sendo destruídos um a um, pois o inimigo possuía uma capacidade formidável para perceber nossas fraquezas e pontos vulneráveis, e nos atingia onde doía mais. Marino era prisioneiro e arma nas mãos daquela mulher. Minha sobrinha, que eu amava como a uma filha, recuperava-se numa clínica, ferida na cabeça, e só por milagre escapara da morte. Um sujeito simplório, que varria o chão e tomava aguardente barata no alto do morro, estava a ponto de ser linchado por um crime hediondo que não cometera. Mote se aposentaria por invalidez e Ferguson estava morto. As causas e efeitos do mal se espalhavam como os ramos de uma árvore que bloqueava toda a luz em minha mente. Era impossível determinar em que ponto o mal começara ou onde iria acabar. Temia analisá-lo muito de perto e ser apanhada por um dos galhos retorcidos. Não gostava de pensar que meus pés poderiam perder o contato com o solo.
“Senhora, mais alguma coisa?” Dei-me conta, vagamente, de que o chofer falava comigo.
Abri os olhos. Estávamos parados na frente do Travel-Eze, e eu não sabia há quanto tempo.
“Lamento acordá-la. Mas será muito mais confortável se dormir na cama, e não aqui. E mais barato, é claro.” O mesmo recepcionista de cabelo aloirado me cumprimentou, quando entrei. Ele me perguntou em que lado do motel eu gostaria de ficar. Pelo que me lembrava, um dos lados tinha vista para a escola frequentada por Emily, e o outro oferecia o panorama da via interestadual. Pouco importava, as montanhas nos rodeavam, brilhando durante o dia, negras contra o céu noturno cheio de estrelas.
“Prefiro a ala dos não-fumantes, por favor. Pete Marino continua hospedado aqui?”, perguntei.
“Claro que sim, embora não apareça com frequência. Gostaria de ficar perto dele?”
“Não precisa. Ele fuma, e prefiro ficar o mais longe possível do cigarro.”
Claro, a razão não era aquela.
“Então vou colocá-la na ala oposta.”
“Acho ótimo. Quando Benton Wesley chegar, pode fazer o favor de me avisar imediatamente?” Pedi também que ligasse para a locadora de automóveis e encomendasse um carro com air-bag, logo no início da manhã seguinte.
Fui para o quarto, tranquei a porta e passei a corrente. Depois, prendi a porta com uma cadeira. Deixei o revólver em cima do vaso sanitário, enquanto tomava um banho demorado, quente, na água perfumada com várias gotas de Hermès. A fragrância acariciou-me como mãos mornas, amorosas, subindo pelo pescoço, chegando ao rosto e, de leve, aos cabelos. Pela primeira vez, em muito tempo, consegui relaxar; de quando em quando abria a água quente para que os odores do perfume se libertassem em nuvens de vapor suave. A cortina da banheira estava fechada, e na sauna perfumada eu sonhei.
As vezes em que me imaginei fazendo amor com Benton Wesley não poderiam ser contadas. Eu me recusava a admitir que as imagens se insinuavam em meu pensamento, até que não pude mais resistir a seu ataque. Aceitei-as, e eram mais fortes do que qualquer sensação que eu já tivera. Guardara cada detalhe do primeiro encontro naquele quarto, embora não tivesse ocorrido ali. Sabia de cor o número certo; e o guardaria para sempre.
Na verdade, meus poucos amantes haviam sido homens formidáveis, cheios de sensibilidade, capazes de aceitar que eu era uma mulher que não era mulher. Tinha o corpo e a sensibilidade de uma mulher, com a energia e a iniciativa de um homem, e estar comigo significava sair um pouco de si. E eles se entregavam amplamente, até mesmo Tony, meu ex-marido, o menos evoluído do grupo. Sexualidade era um concurso erótico compartilhado. Como duas criaturas de força equivalente que se encontravam na selva, dávamos e tomávamos na mesma medida.
Mas Benton era tão diferente, mal dava para acreditar. Nossos lados masculino e feminino se encaixaram de modo inédito, inesperado, como se ele fosse meu outro lado.
Ou, talvez, formássemos um par.
Não sabia bem o que esperar e havia imaginado tudo antes que acontecesse, é claro. Ele seria suave, sob a rígida couraça de reserva, como um guerreiro sonolento no calor de uma rede estendida entre duas árvores imensas. Mas quando ele me tocou naquela madrugada, suas mãos me surpreenderam.
Os dedos se esgueiraram por dentro da roupa e me encontraram, movendo-se como se conhecessem um corpo de mulher tão bem quanto uma mulher. Senti mais do que a sua paixão. Senti a empatia, como se ele quisesse curar as feridas mais profundas e dolorosas da alma feminina. Todos que haviam atacado, machucado ou maltratado pareciam tê-lo ferido também. Era como se os pecados coletivos deles tivessem lhe dado o direito de desfrutar um corpo de mulher como desfrutava o meu.
Expliquei-lhe, já na cama, que nunca conhecera um homem capaz de apreciar verdadeiramente o corpo feminino, que eu não gostava de ser devorada ou dominada. Por isso, para mim, o sexo era algo especial.
“Dá para entender que os homens queiram devorar você”, ele retrucou no escuro, pensativo.
“Também entendo que alguém queira devorar você”, comentei, sincera.
“Mas pessoas querendo dominar outras pessoas exigem que existam profissões como a sua ou a minha.”
“Então não vamos mais usar as palavras devorar e dominar. Chega destes verbos. Criaremos um novo léxico.” E as palavras de nossa nova linguagem vieram com facilidade, e em pouco tempo ganhamos fluência.
Senti-me muito melhor depois do banho, e procurei na mala uma roupa nova e diferente para vestir. Foi impossível; pus a jaqueta azul-escura, calça comprida e o suéter de gola rulê que usava havia dias. A garrafa de scotch estava no final; bebi lentamente, enquanto assistia ao noticiário nacional. Pensei várias vezes em ligar para o quarto de Marino, mas sempre devolvia o fone ao gancho, antes de discar. Meus pensamentos voaram para o Norte, até Newport, e senti vontade de conversar com Lucy. Controlei este impulso, também. Mesmo que eu conseguisse autorização para conversarmos, não seria bom para ela. Melhor que se concentrasse no tratamento, em vez de ficar pensando no que deixara em casa. Liguei para minha mãe, então.
“Dorothy vai passar a noite lá, no Marriott, e voltar para Miami pela manhã”, ela contou.
“Katie, onde você está? Telefonei para sua casa o dia inteiro.”
“Estou fora, em viagem”, falei.
“Ora, isso não quer dizer nada. Você vive fazendo mistério, com suas aventuras. Mas acho que, pelo menos, podia confiar em sua mãe.” Eu a via, em minha mente, fumando um cigarro e segurando o fone. Minha mãe gostava de brincos enormes e maquiagem pesada, e não parecia vir do Norte da Itália, como eu. Não era loura.
“Mamãe, e Lucy, como vai? O que Dorothy disse?”
“Ela disse que Lucy é lésbica, e por sua culpa. Falei que isso era ridículo. Só porque você nunca está acompanhada por um homem, e provavelmente não gosta de sexo, não quer dizer que seja homossexual. As freiras também são assim. Bem, andei ouvindo umas histórias...”
“Mamãe”, interrompi, “Lucy está bem? Como foi a viagem até Edgehill? Qual foi a sua conduta?”
“Como é? Ela virou testemunha, agora? Sua conduta! Isso lá é jeito de falar com sua mãe? Parece que você não se dá conta. Ela encheu a cara no caminho, se quer saber.”
“Não acredito!”, falei, furiosa com Dorothy, mais uma vez. “Pensei que Lucy, estando com a mãe, não poderia fazer uma coisa dessas.”
“Dorothy disse que, se Lucy não estivesse embriagada ao entrar na clínica, o seguro saúde não pagaria nada. Por isso, Lucy tomou vários screwdriver no avião, durante a viagem.”
“Não dou a mínima para o seguro saúde. Além disso, Dorothy está longe de ser pobre.”
“Sabe como ela é em relação a dinheiro.”
“Posso pagar qualquer tratamento para Lucy. Sabe disso, mãe.”
“Você fala como se fosse Ross Perot.”
“O que mais Dorothy disse?”
“Só sei, resumindo, que Lucy estava atacada e brava com você, que não quis levá-la a Edgehill. Afinal, foi você quem escolheu a clínica, é médica e tudo o mais.” Gemi, e percebi que estava discutindo à toa.
“Dorothy não quis que eu fosse.”
“Como sempre, é a sua palavra contra a dela. Você virá para o dia de Ação de Graças?” Desnecessário dizer que, no final da conversa, quando eu não aguentei mais tudo aquilo e desliguei, os benefícios do banho haviam sido anulados. Comecei a servir-me de outro scotch, mas parei, pois não havia álcool no mundo que desse um jeito na raiva que sentia em consequência das questões familiares. Além disso, pensei em Lucy. Deixei a garrafa de lado e poucos minutos depois alguém bateu na porta.
“É o Benton”, a voz anunciou.
Permanecemos abraçados por muito tempo; seu rosto manteve a impassibilidade profissional que eu conhecia tão bem, e que me incomodou, naquele momento. Não queria ver tal expressão ali, quando estávamos a sós.
“Kay, você precisa ir com calma. Tem ideia da magnitude de uma acusação como essa? Não podemos descartar a possibilidade de que Denesa Steiner seja inocente. Ainda não temos certeza de nada.”
“E o problema ocorrido no avião mostra bem que você não está sendo cem por cento analítica. Claro, isso me incomoda também. Algum cretino da segurança quer bancar o herói, e você imediatamente conclui que Denesa Steiner está por trás de tudo, que ela andou brincando com você novamente.”
“Ela não está apenas brincando”, falei, afastando-me dele. “Ela tentou me matar.”
“Insisto, isso é especulação.”
“Não acho, depois do que descobri em meus telefonemas.”
“Não pode provar. Duvido que seja capaz de provar tudo isso, algum dia.”
“Precisamos examinar o carro dela.”
“Quer ir até a casa de Denesa Steiner esta noite?”
“Sim. Mas estou sem carro no momento.”
“Podemos ir no meu.”
“Recebeu a cópia da foto, depois do tratamento da imagem?”
“Está na minha pasta. Já dei uma olhada.” Ele se levantou e deu de ombros. “Para mim não quer dizer nada. É só uma mancha, que passou por uma infinidade de filtros cinzentos, até se tornar uma mancha mais detalhada.”
“Benton, precisamos fazer alguma coisa.”
Ele me olhou, por um longo tempo, apertando os lábios como fazia quando estava decidido, mas cético. “Por isso estamos aqui, Kay. Para fazermos alguma coisa.” Ele havia alugado um Máxima vermelho-escuro; quando saímos, eu me dei conta de que o inverno estava começando, principalmente ali, nas montanhas. Tremia quando entrei no carro, mas sabia que isso se devia, parcialmente, à tensão.
“Como vão a mão e a perna?”, perguntei.
“Novinhas em folha.”
“Bem, trata-se de um milagre, pois não eram novas, quando as cortou.” Ele riu, mais por surpresa do que por qualquer outro motivo. Naquela hora, Wesley não esperava uma tirada humorística.
“Andei pesquisando a fita laranja”, ele disse em seguida. “Procuramos pessoas desta área que tivessem trabalhado na Shuford Mills na época da fabricação da fita.”
“Ótima ideia”, falei.
“Descobrimos um sujeito chamado Rob Kelsey, que era chefe de turma lá. Morava na região de Hickory na época em que a fita foi fabricada, mas se mudou para Black Mountain quando se aposentou, faz uns cinco anos.”
“Ele ainda mora por aqui?”
“Lamento, morreu.”
Droga, pensei. “O que sabe sobre o sujeito?”
“Branco, sexo masculino, morreu de derrame aos sessenta e oito anos. Tem um filho em Black Mountain, por isso quis viver aqui, ao se aposentar, creio. O filho ainda mora aqui.”
“Tem o endereço dele?”
“Posso conseguir.” Ele me olhou.
“E quanto ao nome do filho?”
“Mesmo nome do pai. A casa dela fica logo depois desta curva. Olhe como o lago está escuro. Parece feito de piche.”
“Parece mesmo. E sabe que Emily não teria coragem de passar pela margem, à noite. A história de Creed é verossímil nesse ponto.”
“Não estou discutindo. Nem eu pegaria aquele atalho.”
“Benton, não estou vendo o carro.”
“Ela pode ter saído.”
“O carro de Marino está lá.”
“Isso não quer dizer que eles estejam em casa.”
“Nem que saíram.”
Ele não disse mais nada.
Havia luzes nas janelas, e eu pressentia que ela estava em casa. Não tinha prova alguma, nem uma indicação, mas percebia que ela me sentia, mesmo que não estivesse consciente de minha presença.
“O que acha que eles estão fazendo lá?”, perguntei.
“Bem, o que você acha?”, ele disse, e sua intenção era clara.
“Isso é vulgar. É tão fácil presumir que as pessoas estão fazendo sexo.”
“É fácil presumir porque é fácil fazer.”
Fiquei ofendida, porque esperava mais profundidade da parte de Wesley. “Isso me surpreende, vindo de você.”
“Não deveria surpreendê-la, no caso deles. Era só isso que eu queria dizer.”
Mesmo assim, não tive certeza.
“Kay, não estamos falando do nosso relacionamento, agora”, ele acrescentou.
“Não achei mesmo que estivéssemos.” Sabia que não estava dizendo toda a verdade. Nunca percebi com tanta clareza por que é uma péssima ideia ter um caso com um colega.
“Vamos embora. Não podemos fazer mais nada, no momento”, ele disse.
“E como vamos localizar o carro dela?”
“Vamos procurá-lo pela manhã. Já sabemos uma coisa. Não está aqui neste momento, como estaria se estivesse tudo em ordem, sem nenhum acidente.”
Na manhã seguinte, domingo, acordei com o som dos sinos e calculei que provinha da pequena igreja presbiteriana onde Emily havia sido sepultada. Consultei o relógio e concluí que não, pois passavam poucos minutos das nove. Afinal, o culto deveria começar às onze. Ou não, eu pouco sabia das práticas dos presbiterianos.
Wesley dormia, no lado da cama que eu considerava meu. Era, talvez, nossa única incompatibilidade enquanto casal. Estávamos ambos acostumados ao lado da cama mais distante da janela ou da porta pela qual um atacante entraria, como se o espaço de centímetros de colchão fizesse alguma diferença na hora de pegar a arma. Olhei para a pistola dele, de um lado, e para a minha do outro. Provavelmente, se alguém atacasse, Wesley e eu nos mataríamos a tiros.
As cortinas brilhavam como cúpulas de abajur, anunciando um dia ensolarado. Levantei-me e pedi café da manhã no quarto, antes de perguntar sobre o carro alugado para mim. Segundo o recepcionista, estava a caminho. Sentei-me na cadeira, de costas para a cama, para evitar que os ombros descobertos de Wesley me distraíssem. Apanhei a foto que passara pelo tratamento de imagem, várias moedas, uma lente de aumento e me concentrei no trabalho. Wesley acertara ao dizer que o tratamento só acrescentara tons de cinza a um borrão indistinto. Porém, quanto mais eu olhava para a marca na nádega da menina, mais formas distinguia.
A densidade do cinza era maior num trecho fora do centro da marca circular incompleta. Não poderia dizer a posição da parte mais escura, em termos de horas num relógio, pois não sabia qual lado era o de cima, de baixo ou de lado, no caso do objeto que iniciara o processo de oxidação sob o corpo.
A forma que me interessava lembrava a cabeça de um pato, ou outra ave. Via um domo e depois uma protuberância que lembrava um bico grosso, ou ponta. Não poderia ser a águia do quarto de dólar, pois era muito grande. A forma que eu estudava preenchia cerca de um quarto da marca, e parecia haver uma espécie de dente no que seria o pescoço da ave.
Apanhei a moeda de um quarto de dólar que estava usando para comparação e a virei. Girei-a lentamente, examinando-a, e de repente encontrei a resposta. Era tão simples, tão perfeita no encaixe que me assombrou e animou. O objeto que começara a se oxidar sob o corpo de Emily Steiner era mesmo uma moeda de um quarto de dólar. Mas estava com a cara para cima, e a forma de pássaro representava os olhos de George Washington. A cabeça e o bico do pássaro eram o crânio orgulhoso do primeiro presidente americano e a volta na parte posterior da peruca empoada. Só funcionava, claro, se eu virasse a moeda, de modo que Washington olhasse para o tampo da mesa, e o nariz aristocrático apontasse para meu joelho.
Onde, pensei, o corpo de Emily havia ficado? Deduzi que em qualquer lugar no qual uma moeda pudesse ter sido deixada cair inadvertidamente. Bem, havia traços de tinta e polpa de madeira também. Onde alguém poderia encontrar uma moeda e aquela polpa? Num porão, claro. Num porão onde um dia se realizaram atividades que empregavam polpa, tintas e madeiras como nogueira e mogno.
Talvez o porão que alguém usasse para um hobby. Limpar joias? Não, isso não fazia sentido. Conserto de relógios? Tampouco combinava. Então pensei nos relógios da casa de Denesa Steiner, e meu pulso disparou. Talvez o marido costumasse consertá-los no porão e, para tanto, usasse polpa, a fim de fixar e reparar as engrenagens menores.
Wesley respirava com lentidão, profundamente adormecido. Esfregou o queixo, como se algo o incomodasse, e depois puxou as cobertas até a orelha. Peguei a lista telefônica e procurei o filho do homem que trabalhara na Shuford Mills. Havia dois Robert Kelsey, um júnior e um neto. Ergui o fone.
“Alô?” Uma voz de mulher respondeu.
“É a senhora Kelsey?”, perguntei.
“Depende. Está procurando por Myrtle ou por mim?”
“Estou procurando Rob Kelsey Júnior.”
“Ah.” Ela riu, e percebi que era uma pessoa calorosa, amiga. “Então não está procurando por mim, né? Bom, Rob saiu. Foi à igreja. Sabe, ele ajuda na comunhão, aos domingos, e por isso precisa chegar cedo.”
Fiquei surpresa em receber tantas informações, sem que ela perguntasse quem eu era, e me comoveu perceber que ainda restavam certos lugares no mundo onde as pessoas confiavam umas nas outras.
“Em que igreja ele está?”, perguntei à Sra. Kelsey.
“Terceira Presbiteriana.”
“E o culto começa às onze?”
“Mais ou menos. O reverendo Crow é espetacular, caso não o conheça. Quer deixar um recado para o Rob?”
“Prefiro ligar mais tarde.” Agradeci e desliguei. Quando virei a cabeça, encontrei Wesley sentado na cama, olhando para mim, sonolento.
Seus olhos percorreram o quarto, parando na imagem ampliada e na lente de aumento sobre a mesa. Começou a rir, enquanto espreguiçava.
“O que foi?”, perguntei, indignada.
Ele balançou a cabeça.
“São dez e quinze”, falei. “Se pretende ir à igreja, é melhor se apressar.”
“Igreja?” Ele franziu o cenho.
“Sim. Aquele lugar onde rezam a Deus.”
“Tem igreja católica por aqui?”
“Não faço a menor ideia.” Ele ficou mais intrigado ainda.
“Vou a um culto presbiteriano, esta manhã”, falei. “E, se tiver outros planos, gostaria que me desse uma carona. O carro que eu aluguei ainda não chegou.”
“Se eu lhe der uma carona, como você vai fazer para voltar?”
“Isso não me preocupa.” Naquela cidade em que as pessoas ajudavam desconhecidos pelo telefone, senti vontade de mudar os planos. Deixar por conta do acaso.
“Bem, estou com o pager”, Wesley disse, pisando no chão. Peguei a bateria extra que estava no carregador, ao lado do televisor.
“Tudo bem”, falei, guardando o telefone celular na bolsa.
20
Wesley me deixou na escada que dava acesso à igreja de pedra um pouco cedo, embora as pessoas já começassem a chegar. Observei-os enquanto desciam dos carros e cerravam os olhos por causa do sol, chamando os filhos. As portas batiam, acima e abaixo, na rua estreita. Senti olhos curiosos em minhas costas, na calçada de pedra, enquanto eu ia na direção do cemitério.
A manhã estava muito fria e, apesar do sol claro, sentia uma brisa gélida como uma cama vazia na pele. Empurrei o portão de ferro forjado, que servia apenas a um propósito ornamental. Não mantinha ninguém fora e certamente não era necessário para manter ninguém lá dentro.
As lápides de granito polido brilhavam friamente; as mais antigas pendiam para lados diversos, como línguas sem sangue falando da boca das sepulturas. Ali também os mortos falavam. O gelo estalava baixinho, sob meus pés, no caminho até o canto onde ela estava sepultada. Seu túmulo era uma cicatriz aberta, de barro vermelho.
Fora reaberta e fechada novamente, e as lágrimas encheram meus olhos quando olhei novamente o túmulo, com o anjo e o triste epitáfio.
Não há outra no Mundo... Para mim, foi a única.
Agora, porém, os versos de Emily Dickinson ganharam um sentido diferente para mim. Eu os lia com outros olhos e uma impressão totalmente diferente da mulher que os escolhera. A expressão para mim dava na vista. Para mim. Emily não tivera vida própria, havia sido criada como uma extensão de uma mulher demente, narcisista, com um apetite insaciável para a satisfação do ego. Para a mãe, Emily não passava de um joguete, como todos nós, aliás. Éramos as bonecas que Denesa vestia e despia, abraçava e destruía. Recordei-me do interior da casa, cheia de laços, rendas e estampados infantis. Denesa era uma menininha tentando chamar a atenção, que crescera aperfeiçoando os modos de consegui-lo. Destruíra a vida de todos com quem mantivera contato, e sempre chorara no colo solidário do mundo compadecido. Coitada da Denesa, coitadinha, todos diziam daquela assassina maternal de cujas garras pingava sangue.
O gelo subia em colunas finas, saindo do barro vermelho do túmulo de Emily. Não conhecia a explicação científica para o fato, mas concluí que a água, no barro pouco poroso, se expandia feito gelo ao congelar, e não encontrava outra saída a não ser para cima. Era como se o espírito dela tivesse sido paralisado pelo frio, ao tentar se elevar do solo, e ela brilhava ao sol, como ocorre com cristais puros e água. Dei-me conta, num momento de dor, de meu amor por aquela menina a quem só conhecera na morte. Ela poderia ter sido Lucy, ou Lucy poderia ter sido ela. Ambas sofreram nas mãos da respectiva mãe. Uma voltara ao céu, a outra fora poupada, até agora.
Ajoelhei-me e fiz uma prece, tomei fôlego e retornei à igreja.
O órgão tocava “Rock of ages” quando entrei, pois estava atrasada, e a congregação já entoava o primeiro hino. Sentei-me no fundo, discretamente, percebendo os olhares e pescoços virados em minha direção. Alguém de fora se destacava, naquela igreja, pois a frequência era de moradores locais, exclusivamente. O culto prosseguiu e eu me benzi depois da prece, enquanto um menino no mesmo banco me encarava e a irmã dele seguia o culto num livreto.
O reverendo Crow, com seu nariz pontudo e batina preta, fazia jus ao nome.* Seus braços mais pareciam asas, quando gesticulava ao pregar, e nos momentos mais dramáticos ele dava a impressão de que pretendia levantar voo. Os vitrais nas janelas, retratando os milagres de Jesus, brilhavam como joias, e a pedra incrustada de mica parecia polvilhada de ouro. *Crow significa corvo, em inglês. (N. T.)
Cantamos “Just as I am”, na hora da comunhão, e observei as pessoas à minha volta, para agir como elas. Eles não formavam fila para receber a hóstia. Em vez disso, os coroinhas percorriam os corredores com jarros cheios de suco de uva e pedacinhos de pão duro. Peguei o que me foi dado, todos cantaram a ladainha, receberam a bênção e começaram a sair. Esperei um pouco. Quando o pastor ficou sozinho na porta, depois de se despedir dos paroquianos, chamei-o pelo nome.
“Muito obrigada pelo sermão comovente, reverendo Crow”, disse-lhe. “Sempre gostei muito da parábola do vizinho incomodado.”
“Pode-se aprender muito com ela. Sempre a conto a meus filhos.” Ele sorria, ao apertar minha mão.
“Vale muito a pena meditar sobre ela”, concordei.
“Ficamos muito felizes em tê-la conosco hoje. Creio que a senhora é a médica do FBI. Ouvi falar em sua presença na cidade. E a vi no noticiário, também.”
“Sou a doutora Scarpetta”, falei. “Poderia me mostrar quem é Rob Kelsey? Ou será que ele já foi embora?”
“Claro que não”, o pastor disse, como eu já esperava. “Rob ajuda na comunhão. Está guardando as coisas, provavelmente.” Ele olhou para a sacristia.
“Será que posso procurá-lo?”
“Claro, fique à vontade”, seu rosto se anuviou de tristeza, “todos nós damos muito valor ao trabalho que estão realizando por aqui. Jamais seremos os mesmos.” Ele balançou a cabeça. “Coitada da mãe, coitada. Algumas pessoas dão as costas a Deus, depois de uma tragédia assim. Mas não Denesa, ela não. Continua a vir aqui todos os domingos, é uma verdadeira cristã. Uma das melhores que já conheci.”
“Ela veio aqui hoje?”, perguntei, sentindo um arrepio na espinha.
“Sim, cantou no coro, como sempre faz.” Não cheguei a vê-la. Bem, havia pelo menos duzentas pessoas na igreja, e o coro ficava no balcão, atrás de mim.
Rob Kelsey Jr. era um cinquentão rijo, usava terno barato azul-marinho em risca de giz e estava recolhendo os copos da comunhão de seus apoios nos bancos. Apresentei-me, e fiquei preocupada com a possibilidade de assustá-lo, mas ele era do tipo imperturbável. Sentou-se num banco, a meu lado, e ficou passando a mão no lóbulo da orelha, pensativo, enquanto eu explicava o que queria.
“Isso mesmo”, explicou com o sotaque da Carolina do Norte mais pronunciado que eu já ouvira. “Papai trabalhou na fábrica a vida inteirinha. Deram a ele uma tevê colorida grandona, quando se aposentou, e também um alfinete de gravata de ouro puro.” “Ele deve ter sido um bom chefe”, falei.
“Bom, no começo ele não era chefe. Começou como encaixotador, depois passou a inspetor, antes de virar chefe.”
“E o que ele fazia, exatamente? Como encaixotador, por exemplo?”
“Ué, ele punha as fitas nas caixas; depois passou a ver se as outras pessoas faziam isso direito.”
“Entendo. Lembra-se de alguma fita adesiva cor de laranja, bem berrante, feita lá na fábrica?” Rob Kelsey, com seu cabelo escovinha e olhos castanho-escuros, meditou sobre a pergunta. Subitamente, um lampejo de reconhecimento iluminou sua face. “Claro. Lembro de que era muito diferente. Nunca tinha visto uma fita assim, e nunca mais vi. Acho que era para uma penitenciária qualquer.”
“Isso mesmo”, falei. “Será que alguns rolos não acabaram vindo parar aqui? Nesta cidade?”
“Não deveriam. Mas essas coisas acontecem, pois tem sempre uma sobra ou refugo. Alguns rolos não saem perfeitos.” Pensei nas marcas de graxa nas bordas da fita usada para prender a Sra. Steiner e a filha. Talvez uma parte tenha ficado presa no equipamento, ou se sujado de graxa por outro motivo.
“Geralmente, os rolos que não passam na inspeção”, comentei, “são dados aos empregados ou vendidos a um preço mais baixo, não é?” Kelsey não disse nada. Parecia um tanto perplexo.
“Senhor Kelsey, sabe se por acaso seu pai deu um rolo de fita laranja a alguém?”, perguntei.
“Só para uma pessoa, que eu saiba. Jake Wheeler. Bem, ele já morreu, faz pouco tempo. Mas, antes de morrer, ele tinha uma lavanderia automática, a Mack’s Five-and-Dime. Pelo que eu me lembro, a farmácia da esquina também era dele.”
“E por que seu pai daria um rolo de fita a ele?”
“Bem, Jake gostava de caçar. Acho que papai disse que Jake sentia tanto medo de levar um tiro por engano, no meio do mato, se alguém o confundisse com um peru, que ninguém queria sair para caçar com ele.” Não falei nada. Não sabia aonde ele queria chegar.
“Ele fazia muito barulho, e usava roupa que brilhava no escuro. Assustava todos os caçadores, com certeza. Acho que nunca atirou em nada, fora esquilos.”
“O que isso tem a ver com a fita?”
“Tenho quase certeza de que papai deu um rolo a ele, de brincadeira. Acho que era para Jake pôr no cano da espingarda ou na roupa.” Kelsey sorriu, e notei que lhe faltavam vários dentes.
“E onde Jake morava?”, perguntei.
“Perto de Pine Lodge. Na metade do caminho entre Black Mountain e Montreat.”
“Existe alguma chance de que ele tenha dado a fita a alguém?”
Kelsey olhou para a bandeja de cálices usados na comunhão, em suas mãos, e a testa franziu, pensativa.
“Por exemplo”, prossegui, “Jake caçava com mais alguém? Talvez alguém para quem a fita fosse útil. Não era do mesmo tom de laranja que os caçadores usam?”
“Não sei se ele a deu a alguém. Mas sei que ele era muito amigo de Chuck Steiner. Eles saíam atrás de ursos, na temporada de caça, mas todos nós torcíamos para que eles não achassem nenhum. Não sei por que alguém pode querer topar com um urso cinzento pela frente. E, se abater um deles, o que vai fazer? Só um tapete. Não dá para comer, só se você for Daniel Boone e Mingo morrendo de fome.”
“Chuck Steiner era o marido de Denesa Steiner?”, perguntei, sem permitir que a voz traísse meus pensamentos.
“Era. Um cara muito legal, também. Ficamos muito tristes quando ele morreu. Se soubéssemos que sofria do coração, teríamos cuidado melhor dele, aconselhado Chuck a pegar leve.”
“Ele caçava, também?”
Eu precisava saber.
“Ah, claro que sim. Saí com ele e Jake algumas vezes. Os dois adoravam andar no mato. Sempre falei para eles irem para a África. Lá sim tem caça graúda. Sabe, eu mesmo não teria coragem de atirar nem num bicho-pau.”
“Se for a mesma coisa que um louva-a-deus, não deveria, mesmo. Dá azar.”
“Não é a mesma coisa”, ele disse, objetivo. “Um louva-a-deus é outro inseto, completamente diferente. Mas concordo com a senhora. Não, dona, eu não faria mal a nenhum dos dois.”
“Senhor Kelsey, conhecia bem Chuck Steiner?”
“Conhecia mais ou menos, das caçadas e da igreja. Ele dava aula. Ensinava religião na escola particular da igreja. Se eu pudesse mandar meu filho estudar lá, mandava.”
“O que mais pode me dizer a respeito dele?”
“Conheceu a mulher na Califórnia, quando estava no exército.”
“Alguma vez ele falou no bebê que morreu? Uma menina, chamava-se Mary Jo, ela deve ter nascido na Califórnia.”
“Não, nunca.” Ele parecia surpreso. “Sempre achei que Emily fosse filha única. Eles perderam um bebê também? Puxa vida.” Sua expressão era de dor.
“O que aconteceu depois que eles saíram da Califórnia?”, prossegui. “O senhor sabe?”
“Eles vieram para cá. Chuck não gostava do Oeste e costumava vir para cá quando era menino, de férias com a família. Eles sempre ficavam numa cabana na montanha Gray Beard.”
“Onde fica?”
“Em Montreat. Na cidade onde Billy Graham mora. Bem, o reverendo não vem muito aqui, atualmente. Mas já vi a mulher dele.” Ele fez uma pausa. “Alguém já lhe contou que Zelda Fitzgerald esteve internada num hospital perto daqui?”
“Já me contaram”, falei.
“Chuck sabia consertar relógios muito bem. Ele fazia isso por hobby, e acabou ficando encarregado de consertar todos os relógios da Biltmore House.”
“E onde trabalhava?”
“Ele ia até a Biltmore House para consertá-los. Mas as pessoas da região também levavam relógios para ele. Tinha uma oficina no porão.” O Sr. Kelsey teria passado o resto do dia batendo papo, mas eu precisava ir embora, e encerrei a conversa do modo mais gentil possível. Ao sair, liguei para o pager de Wesley do meu celular, e deixei o código 10-25 da polícia, que significava simplesmente “Encontre comigo”. Ele saberia onde. Estava pensando em esperar na entrada da igreja, para fugir do frio, quando me dei conta, pelas conversas das últimas pessoas a sair, que eram os membros do coro. Quase entrei em pânico. No exato momento em que sua imagem me veio à mente, ela apareceu na minha frente. Denesa Steiner aguardava, na porta da igreja, sorridente.
“Bem-vinda”, disse calorosamente, com seus olhos duros como cobre.
“Bom dia, Sra. Steiner”, falei. “O capitão Marino também veio?”
“Ele é católico.”
Ela vestia um casaco de lã preto que chegava até os sapatos pretos, e luvas pretas. Não usava maquiagem, exceto por um pouco de blush da cor de seus lábios sensuais.
Achei sua beleza fria como aquele dia, e não entendi como pude ter sentido pena dela ou acreditado em seu sofrimento.
“O que a traz à igreja?”, perguntou em seguida. “Há uma igreja católica em Asheville.”
O que mais ela saberia a meu respeito? O que Marino poderia ter contado?
“Queria visitar o túmulo de sua filha”, falei, fitando seus olhos com intensidade.
“Ora, é muita gentileza sua.” Ela não deixou de sorrir, nem desviou a vista.
“Na verdade, foi uma sorte encontrá-la”, falei. “Preciso fazer mais algumas perguntas. Seria possível conversarmos agora?” “Aqui?”
“Prefiro em sua casa.”
“Eu ia levar alguma coisa para o almoço. Não estou com vontade de preparar nada muito trabalhoso, só porque é domingo. E Pete está tentando perder peso.”
“Não estou interessada em almoçar.” Não fiz o menor esforço para disfarçar meus sentimentos. Meu coração estava tão duro quanto a expressão em meu rosto. Ela tentara me assassinar. Quase matara minha sobrinha.
“Então nos vemos lá.”
“Gostaria de uma carona. Estou sem carro.” Queria ver o carro dela. Precisava vê-lo.
“O meu está no conserto.”
“Mas que estranho. Pelo que eu me lembro, era novo em folha.” Se meus olhos fossem lasers, a teriam perfurado.
“Andou dando problemas, precisei deixá-lo numa concessionária fora do estado. O carro começou a falhar na viagem. Vim com uma vizinha, mas pode voltar conosco, se quiser. Ela está esperando.” Segui-a pelos degraus de pedra, depois por uma calçada e mais degraus. Havia alguns carros estacionados ao longo da rua, e um ou dois estavam saindo. A vizinha era uma senhora idosa, de chapéu redondo rosado e aparelho auditivo. Estava ao volante de um Buick antigo, com o aquecimento ao máximo e uma fita de música religiosa idem. A Sra. Steiner ofereceu o banco da frente, mas recusei. Não queria lhe dar as costas. Precisava acompanhar cada movimento seu, e lamentava a falta do meu 38.
Mas não parecia correto portar arma na igreja, e não me passou pela cabeça qwe poderia encontrá-la.
A Sra. Steiner e a vizinha conversaram no banco da frente, e eu permaneci em silêncio. Em poucos minutos chegamos à casa dos Steiner, e notei que o carro de Marino estava estacionado no mesmo lugar da véspera, quando Wesley e eu passamos por ali. Nem conseguia imaginar como seria encontrar Marino. Não tinha a menor ideia do que dizer, nem de como ele se comportaria comigo. A Sra. Steiner abriu a porta da frente. Entramos, e notei as chaves do quarto de motel e do carro de Marino numa bandeja de Norman Rockwell, na mesa do vestíbulo.
“Onde está o capitão Marino?”, perguntei.
“Lá em cima, dormindo.” Ela tirou as luvas. “Não se sentiu bem, ontem à noite. Sabe, está dando uma gripe terrível.” Ela desabotoou o casaco e balançou os ombros de leve, para tirá-lo. Desviou a vista ao fazê-lo, como se estivesse acostumada a dar a todos os interessados a oportunidade de ver seios que nenhuma roupa conservadora poderia esconder. A linguagem de seu corpo era a sedução, agora dirigida a mim. Ela estava me provocando, mas não pelos motivos que a levariam a provocar um homem. Denesa Steiner estava se exibindo. Era muito competitiva, enquanto mulher, e isso me revelou melhor ainda como devia ser seu relacionamento com Emily.
“Talvez seja melhor que eu o acorde”, falei.
“Pete precisa dormir. Vou levar um chá bem quente para ele e já volto. Por que não espera na sala? Fique à vontade. Quer chá ou café?”
“Nada, obrigada”, disse, e o silêncio na casa me incomodou.
Assim que ela subiu, olhei em volta. Voltei ao vestíbulo, enfiei a chave do carro de Marino no bolso e entrei na cozinha. Do lado esquerdo da pia havia uma porta que dava para fora. Do outro lado, uma porta com tranca corrediça. Puxei a tranca e girei a maçaneta.
O ar frio e úmido sugeria que se tratava do porão, e passei a mão pela parede, à procura do interruptor. Meus dedos o sentiram e acendi a luz, iluminando a escada de madeira pintada de vermelho. Desci os degraus, pois precisava ver o que havia lá. Nada me impediria, nem o medo de que ela me descobrisse. Meu coração batia com força contra as costelas, como se tentasse escapar.
A bancada de Chuck Steiner continuava lá, com equipamentos e ferramentas e o mostrador de um relógio velho, parado no tempo. Havia pedaços de polpa espalhados, em sua maioria exibindo as marcas engorduradas das peças que haviam segurado um dia. Alguns estavam no chão, junto com pedaços de fio, preguinhos e parafusos. Caixas vazias de relógios antigos de carrilhão montavam sentinela nas sombras, em silêncio. Vi também rádios e televisores antigos, além de mobília variada, coberta de poeira.
As paredes eram feitas de bloco, sem janelas. Em uma estante cara havia rolos bem-arrumados de cordas e fios de diferentes tipos, materiais e espessuras. Pensei no macramê por cima da mobília, lá em cima, no trabalho intricado de nós que cobria braços de poltronas e sofás, encostos de cadeiras e sustentava vasos de plantas, em ganchos no teto. Lembrei-me do nó de forca em volta do pescoço de Max Ferguson. Em retrospecto, parecia inacreditável que ninguém tivesse feito antes uma busca naquele porão. Enquanto a polícia procurava por Emily, ela provavelmente estava ali.
Puxei uma cordinha para acender outra luz, mas a lâmpada estava queimada. Não tinha lanterna, e minha cabeça latejava tanto que eu mal conseguia respirar, enquanto olhava tudo. Perto da parede, ao lado de uma pilha de lenha coberta por teias de aranha, vi outra porta trancada, dando para fora. Junto do aquecedor de água havia mais uma porta, que dava para o banheiro. Acendi a luz.
Olhei para a bacia velha de porcelana, respingada de tinta. A descarga não era puxada havia anos, pois a água deixara uma marca de ferrugem no fundo. Dentro da pia vi uma escova de cerdas duras, dobrada como uma mão. Depois, examinei a banheira. Encontrei a moeda de um quarto de dólar quase no meio dela, com a efígie de George Washington virada para cima, e percebi marcas de sangue em volta do ralo. Recuei, e percebi que a porta do alto da escada havia sido fechada de repente. Ouvi o ruído da tranca. Denesa Steiner acabara de me prender no porão.
Corri para um lado, para outro, meus olhos procuravam opções, enquanto eu tentava pensar em como agir. Fui até a porta perto da pilha de madeira, destravei o trinco, retirei a corrente pega-ladrão e de repente me vi no quintal ensolarado. Não vi nem ouvi ninguém, mas acreditava que ela estivesse me vigiando. Deveria saber que eu sairia por ali e me dei conta, subitamente horrorizada, do que estava acontecendo. Ela não pretendera me prender, de modo algum. Queria me trancar fora da casa, garantir que eu não subisse ao andar superior.
Pensei em Marino, e minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia tirar as chaves do bolso enquanto corria pela lateral da casa, até a entrada. Destranquei a porta do passageiro do Chevrolet reluzente. A Winchester de aço inoxidável estava debaixo do banco da frente, onde ele sempre guardava sua escopeta. Senti a arma nas mãos, fria como gelo, e corri de volta para a casa, deixando a porta do carro escancarada. A porta da frente estava trancada, como eu já calculara. Mas havia painéis de vidro dos dois lados, e golpeei um deles com a coronha da arma. O vidro quebrou e caiu silenciosamente no carpete do outro lado. Enrolei o lenço na mão, e cuidadosamente destranquei a porta. Logo estava subindo a escada aos pulos, como se eu fosse outra pessoa ou minha mente estivesse vazia. Mais parecia máquina do que gente. Lembrei-me da luz acesa no quarto, na noite anterior, e corri para lá.
A porta estava fechada. Quando a abri, ela estava lá, sentada placidamente na beirada da cama onde Marino jazia, com um saco plástico de lixo na cabeça, preso com fita adesiva na altura do pescoço. Os acontecimentos seguintes ocorreram simultaneamente. Soltei a trava da escopeta, enquanto ela apanhava a pistola em cima da mesa e se levantava. As armas se ergueram ao mesmo tempo, e eu disparei. O disparo ensurdecedor a atingiu como uma rajada brusca de vento forte, e ela recuou até a parede, enquanto eu armava e disparava, armava e disparava outra vez e outra e outra.
Ela caiu, encostada na parede, e o sangue manchou o padrão infantil. Fumaça e cheiro de pólvora encheram o ar. Arranquei o saco da cabeça de Marino. Seu rosto estava azulado e não senti seu pulso na carótida. Bati em seu peito, soprei em sua boca uma vez, comprimi o peito quatro vezes e ele soluçou. Começou a respirar.
Agarrei o telefone e disquei emergência. Gritei como se estivesse falando num rádio da polícia, no meio de um tiroteio.
“Policial ferido! Policial ferido! Mandem uma ambulância!”
“Senhora, de onde está falando?” Eu não tinha ideia do endereço.
“Da casa de Steiner! Por favor, venham logo!” Deixei o telefone fora do gancho.
Tentei sentar Marino na cama, mas ele era pesado demais.
“Vamos lá! Vamos lá!” Virei seu rosto para o lado, e enfiei os dedos na boca, para manter a garganta desimpedida. Olhei em volta, procurando frascos de remédio, qualquer indicação do que ela poderia ter dado a ele. Havia copos de bebida vazios na mesa ao lado da cama. Cheirei-os, identificando o bourbon. Encarei-a, atordoada. Vi sangue e miolos por toda parte. Eu tremia como uma criatura em agonia. Eu balançava e tremia como se fosse morrer. Ela estava recostada, quase sentada, de costas para a parede, numa poça de sangue que crescia. As roupas pretas cheias de furos estavam encharcadas, a cabeça pendia para o lado, pingando sangue no chão.
Quando as sirenes soaram, pareceram gemer por um longo tempo, antes que eu ouvisse o som de passos subindo a escada, a maca subindo, batendo e sendo aberta, e depois, subitamente, Wesley estava ali. Ele me abraçou com força, enquanto sujeitos de agasalho esportivo rodeavam Marino. Luzes azuis e vermelhas brilhavam através da janela, e percebi que eu havia atirado no vidro. Entrava um ar muito frio, que fazia voar as cortinas salpicadas de sangue, estampadas com balões coloridos num céu amarelo.
Olhei para o edredom azul-claro e para os bichos de pelúcia. Havia enfeites de arco-íris no espelho e um pôster de Winnie the Pooh.
“Era o quarto dela”, falei a Wesley.
“Tudo bem”, ele disse, acariciando meus cabelos.
“Era o quarto de Emily”, falei.
21
Saí de Black Mountain na manhã seguinte, uma segunda-feira, e Wesley queria me acompanhar, mas preferi ir sozinha. Eu tinha questões pendentes para resolver e ele precisava ficar com Marino, que convalescia no hospital, depois de passar por uma lavagem para remover o Demerol de seu estômago. Logo se recuperaria, pelo menos fisicamente. Wesley o levaria logo a Quantico, pois Marino precisava ser interrogado, como um agente que tivesse passado muito tempo infiltrado. Precisava de descanso, segurança e amigos.
No avião, fiquei sozinha na fileira e fiz várias anotações. O assassinato de Emily Steiner fora resolvido quando matei sua mãe. Dera meu depoimento à polícia e a investigação continuaria por algum tempo ainda. Mas isso não me preocupava, nem haveria motivo. Apenas não sabia o que sentir. Incomodava-me um pouco, mas eu não me arrependia.
Percebia, porém, que estava muito cansada e que qualquer esforço me exauria. Sentia como se tivesse recebido uma transfusão de chumbo. Até erguer a caneta era penoso, minha mente recusava-se a funcionar depressa. De tempos em tempos eu me pegava olhando para o vazio, sem ver nem piscar, sem saber por quanto tempo eu estava assim, nem para onde fora.
Minha primeira tarefa era preparar o relatório do caso, em parte para o inquérito do FBI, em parte para a polícia local, que me investigava. As peças se encaixavam bem, mas algumas perguntas jamais seriam respondidas, pois não restava ninguém para fazer isso. Por exemplo, jamais saberíamos o que ocorreu na noite da morte de Emily, embora eu tivesse desenvolvido uma teoria.
Acredito que ela tenha voltado para casa correndo, depois do encontro de jovens na igreja, e brigado com a mãe. Isso pode ter acontecido durante o jantar, quando, suspeito, a Sra. Steiner pode ter punido a filha, salgando sua comida. Forçar a ingestão de sal é uma forma de maltratar crianças que, infelizmente, não chega a ser incomum.
Talvez ela tenha forçado Emily a beber salmoura. A menina pode ter vomitado, o que só serviu para deixar a mãe mais furiosa ainda. A menina teria entrado em coma por excesso de sódio, e estaria quase morta, ou morta, quando a senhora Steiner a carregou para o porão. Esta hipótese explicaria as aparentes contradições na autópsia de Emily. Explicaria o alto índice de sódio e a falta de reações aos ferimentos.
Quanto ao motivo que levou a mãe a imitar a morte de Eddie Heath, só consigo imaginar que alguém, sofrendo da síndrome de Munchausen, se interessava imensamente por casos famosos. Contudo, a reação de Denesa Steiner não seria a mesma das outras pessoas. Ela imaginaria a atenção que a mãe receberia ao perder um filho numa situação tão macabra.
A fantasia pode ter sido tão excitante, para ela, que acabou tomando conta de sua mente. Talvez tenha envenenado e matado a filha naquela noite de domingo, para executar seu plano. Ou resolveu colocar o plano em prática depois de envenenar Emily acidentalmente, num momento de raiva. Jamais saberíamos a resposta, mas a esta altura não fazia diferença alguma. O caso jamais chegaria ao tribunal.
No porão, a Sra. Steiner colocou o corpo da filha na banheira. Calculo que, neste momento, ela deu o tiro na nuca, para que o sangue escorresse pelo ralo. Depois a despiu, o que explicaria a presença da moeda que Emily não havia deixado na igreja, pois saíra antes que o menino de quem gostava fizesse a coleta. O quarto de dólar caiu do bolso de Emily, quando a mãe tirou sua calça comprida, e a nádega permaneceu em cima dela pelos seis dias seguintes.
Imagino que a Sra. Steiner, quase uma semana depois, removeu o corpo de Emily, que ficou praticamente sob refrigeração. Deve tê-lo enrolado num cobertor, o que explicaria as fibras de lã encontradas, e depois dentro de um saco de lixo grande. Os traços microscópicos de polpa de madeira estavam explicados, também, pois o Sr. Steiner usara o material naquele porão durante anos, em seu trabalho de relojoeiro. Até o momento a fita adesiva laranja que a senhora Steiner usara para prender a filha ainda não havia aparecido, nem a pistola calibre 22. Duvido que apareçam. A senhora Steiner era esperta demais para guardar artigos que a incriminariam.
Em retrospecto, tudo parecia muito simples, quase óbvio. Por exemplo, a sequência na qual a fita foi retirada do rolo era perfeita, para o caso. Claro, a Sra. Steiner prendeu a filha primeiro, depois precisou cortar todos os pedaços e colocá-los na beirada do móvel. A mãe não precisou dominar a filha, que não se mexia. A Sra. Steiner estava com as duas mãos livres, portanto. Todavia, na hora de prender a si própria, a senhora Steiner precisou ser mais criativa. Cortou todos os pedaços e os colocou na beirada da penteadeira. Depois passou a fita em si, de modo que pudesse se libertar sem muito esforço. Nem percebeu que usara os pedaços fora de sequência, pois não tinha motivos para achar que isso faria alguma diferença.
Em Charlotte, peguei o avião para Washington e, de lá, um táxi para o edifício Russell, onde tive um encontro com o senador Lord. Ele estava votando no plenário do Senado, quando cheguei, às três e meia. Aguardei pacientemente, em sua sala de espera, enquanto moças e rapazes falavam sem parar ao telefone, pois o mundo queria sua ajuda. Não entendia como ele conseguia viver com tamanho fardo. Ele entrou e sorriu para mim. Percebi, por seu olhar, que ele já sabia de tudo.
“Kay, que bom ver você!” Segui-o até outra sala, com mais mesas e pessoas ao telefone; chegamos ao seu escritório, e ele fechou a porta. Possuía quadros maravilhosos, de grandes artistas, e notava-se seu amor pelos bons livros.
“O diretor me ligou, hoje. Um pesadelo. Nem sei o que dizer.”
“Estou bem.”
“Por aqui, por favor.” Ele me fez sentar no sofá e acomodou-se numa poltrona discreta. O senador Lord raramente punha a mesa entre ele e as pessoas. Não precisava, pois sua grandeza o tornava humilde e gentil, como ocorria com as pessoas realmente poderosas que eu conhecia.
“Ainda estou um tanto abalada. Num estado de espírito muito esquisito”, disse-lhe. “Mais tarde, terei problemas. Estresse pós-trauma e coisas do gênero. Saber como funciona não imuniza ninguém.”
“Quero que você se cuide bem. Vá para algum lugar, descanse um pouco.”
“Senador Lord, o que podemos fazer a respeito de Lucy? Quero limpar o nome dela.”
“Acho que já conseguiu isso.”
“Não inteiramente. O FBI sabe que não pode ter sido o polegar de Lucy no scanner do sistema de trava biométrico. Mas isso não inocenta minha sobrinha inteiramente. Pelo menos foi essa a impressão que tive.”
“Nada disso. De modo algum.” O senador Lord cruzou as longas pernas e me encarou. “Bem, pode haver algum problema, em termos do que anda circulando lá no FBI. Refiro-me aos mexericos. Desde que Temple Gault entrou em cena, muita coisa não pode ser discutida.”
“Portanto, Lucy precisa suportar os olhares de todos, pois não pode explicar a ninguém o que aconteceu”, falei.
“Isso mesmo.”
“Consequentemente, alguns não confiam nela, e acham que ela não deve ficar em Quantico.”
“Pode haver quem pense isso.”
“Isso não basta.” Ele me olhou, paciente. “Você não pode protegê-la para sempre, Kay. Deixe que Lucy caia e se levante sozinha. A longo prazo, será melhor para ela. Cuide apenas da parte jurídica.” Ele sorriu.
“Estou fazendo o máximo possível quanto a isso”, falei. “Ela ainda tem pela frente o inquérito por dirigir embriagada.”
“Ela foi vítima de uma violência ou até mesmo de uma tentativa de homicídio. Creio que isso muda um pouco as coisas, do ponto de vista do juiz. Sugiro também que ela realize algum trabalho voluntário para a comunidade.”
“Tem algo em mente?” Sabia que ele pensara em alguma coisa, ou não teria mencionado a possibilidade.
“Na verdade, tenho. Pensei que ela poderia voltar ao ERF. Não sabemos o quanto Gault entrou no CAIN. Gostaria de sugerir ao diretor do FBI que Lucy fosse usada para seguir as pegadas de Gault no sistema, para vermos o que pode ser salvo.”
“Frank, você sabe que ela vai ficar muito animada com isso”, falei, e meu coração se encheu de gratidão.
“Não consigo pensar em ninguém mais qualificado”, ele prosseguiu. “E isso lhe dará uma chance de se recuperar. Ela não fez nada de mau, propositadamente, mas se equivocou em seu julgamento.”
“Direi isso a ela”, falei.
Segui de seu escritório para o hotel Willard, e subi para meu quarto. Estava cansada demais para voltar a Richmond. No fundo, queria mesmo pegar um avião para Newport.
Queria ver Lucy, mesmo que fosse apenas por uma ou duas horas. Queria que ela soubesse o que o senador Lord havia feito, que seu nome estava limpo, seu futuro brilhante.
Tudo ia acabar bem. Eu tinha certeza. Queria dizer a ela o quanto eu a amava. Queria tentar encontrar as palavras que me eram tão difíceis de dizer. Minha tendência era manter o amor guardado no coração, por medo de que ele me abandonasse, como tantas pessoas o fizeram, em minha vida. Por isso, habituei-me a carregar meus medos comigo.
Liguei para Dorothy, do quarto, mas ninguém atendeu. Telefonei para minha mãe, em seguida.
“Onde está agora?”, ela perguntou, e ouvi barulho de água correndo.
“Estou em Washington”, falei. “Onde está Dorothy?”
“Por acaso ela está aqui, me ajudando a fazer o jantar. Vamos comer frango ao molho de limão e salada – você precisa ver o limoeiro, Katie. Os grapefruits também estão lindos, imensos. Acabei de lavar a alface. Se pelo menos você visitasse sua mãe de vez em quando, poderíamos jantar juntas, fazer algumas refeições em família.”
“Preciso falar com Dorothy.”
“Espere um pouco.” O telefone bateu em alguma coisa, e a voz de Dorothy surgiu na linha.
“Qual é o nome do responsável por Lucy em Edgehill?”, perguntei, sem rodeios. “Calculo que alguém esteja cuidando dela por lá.”
“Não sei, e não importa. Lucy não está mais lá.”
“Como é?”, perguntei. “O que foi que você disse?”
“Ela não gostou do tratamento e disse que queria ir embora. Eu não podia obrigá-la. Ela já é adulta. Afinal, ela não é nenhuma viciada.”
“Como é?” Eu estava chocada. “Ela está aí? Voltou para Miami?”
“Não”, minha irmã respondeu calmamente. “Ela preferiu passar algum tempo em Newport. Disse que não seria seguro voltar para Richmond, no momento, ou qualquer bobagem desse tipo. E não quis vir para cá tampouco.”
“Ela está em Newport sozinha, com um ferimento na cabeça e problemas com a bebida, e você não está fazendo nada a respeito?” “Kay, você está fazendo drama, como sempre.”
“Onde ela está hospedada?”
“Não tenho a menor ideia. Ela disse que preferia ficar solta no mundo por um tempo.”
“Dorothy!”
“Não se esqueça de que ela é minha filha, e não sua.”
“Essa é a pior desgraça da vida dela.”
“Por que você não para um pouco de se meter na vida alheia, porra?”, ela gritou.
“Dorothy!”, ouvi minha mãe dizer, ao fundo. “Não gosto de palavrões.”
“Quer mesmo saber de uma coisa?”, falei, com a calma fria dos homicidas, “se acontecer alguma coisa a ela, vai ser responsabilidade sua. Você não é só uma mãe horrível, é um ser humano horrível também. Lamento muito que seja minha irmã.” Bati o telefone. Peguei a lista e comecei a procurar as companhias aéreas. Poderia pegar um voo para Providence, se me apressasse. Saí do quarto correndo e assim atravessei o elegante saguão do Willard. As pessoas me olhavam, espantadas.
O porteiro chamou um táxi, e eu disse ao chofer que pagaria o dobro se ele me levasse ao National depressa. Ele saiu guiando feito um louco. Cheguei ao terminal quando faziam a última chamada para o voo. Subi no avião, acomodei-me na poltrona e lutei contra o choro que se acumulava na garganta. Tomei um chá quente e fechei os olhos. Não conhecia Newport: e não sabia onde ficar.
A viagem de táxi de Providence a Newport levaria mais de uma hora, segundo o chofer, pois estava nevando. Pela janela molhada vi os paredões de granito na beira da estrada. A pedra tinha furos de britadeira e estava cheia de gelo. O vento que entrava pelo fundo do carro era frio e úmido. Flocos de neve imensos espiralavam no para-brisa, como frágeis besouros brancos, e olhei para eles com tanta intensidade que comecei a enjoar.
“Pode me recomendar algum hotel em Newport?”, perguntei ao motorista, que falava com o sotaque peculiar de Rhode Island.
“O Marriott seria a melhor opção. Fica na beira da água, e dá para ir a pé aos restaurantes. Ou então o Doubletree, em Goat Island.”
“Vamos tentar o Marriott.”
“Sim, senhora. Para o Marriott, então.”
“Se você fosse uma moça, procurando serviço em Newport, aonde iria? Minha sobrinha tem vinte e um anos, e resolveu passar uns tempos por lá.” Parecia estupidez fazer uma pergunta daquelas a um desconhecido. Mas eu não via saída.
“Em primeiro lugar, não escolheria esta época do ano. Newport está um deserto.”
“Mas, se ela escolhesse esta época, mesmo assim? Se estivesse de férias na escola, por exemplo?”
“Bemmm...” Ele pensou um pouco, enquanto eu acompanhava o movimento dos limpadores, no para-brisa.
“Talvez nos restaurantes?”, arrisquei.
“É, pode ser. Muitos jovens trabalham nos restaurantes. Pagam bem, pois o turismo é a principal atividade em Newport. Não acredite se disserem que é a pesca. Nos dias de hoje, um barco com capacidade para doze toneladas volta com duas toneladas de peixe. Num dia bom, é claro.” Ele continuou a falar, enquanto eu pensava em Lucy, em onde ela poderia estar. Tentei entrar na cabeça dela, ler seus pensamentos, aproximar-me de algum modo. Rezei em silêncio e lutei contra as lágrimas e contra meus medos mais terríveis. Não conseguiria lidar com outra tragédia. Não se envolvesse Lucy. Seria a última perda.
Seria demais.
“Até que horas esses lugares costumam ficar abertos?”, perguntei.
“Que lugares?” Dei-me conta de que ele estava falando de peixes usados para fazer comida de gato.
“Os restaurantes”, expliquei. “Ainda estão abertos a esta hora?”
“Não, senhora. A maioria já fechou. Já é quase uma da manhã. A melhor coisa a fazer, se quer ajudar sua sobrinha a conseguir um emprego, é sair amanhã de manhã. A maioria abre às onze, alguns até antes, pois servem café da manhã.” O motorista do táxi tinha razão, claro. Não poderia fazer nada, exceto deitar na cama e dormir. O quarto que consegui no Marriott dava para a costa. Da janela, a água era negra, e as luzes dos barcos de pesca piscavam num horizonte que eu não via.
Levantei-me às sete, pois não adiantava mais ficar na cama. Não dormira, temendo sonhar.
Pedi o café, olhei pela janela e vi um dia cinzento como aço, no qual a água se confundia com o céu. Ao longe, os gansos voavam em formação, como um esquadrão de caças. A neve dera lugar à chuva. Saber que poucos lugares estariam abertos num dia como aquele não me deteve, e às oito eu já estava fora do hotel, com uma lista de bares, restaurantes e pousadas mais populares conseguida na recepção.
Andei pelo cais, vendo marinheiros de impermeáveis amarelos e calças grossas, preparados para enfrentar o tempo ruim. Parava para fazer perguntas a quem se dispusesse a me ouvir, sempre as mesmas, assim como as respostas. Descrevia minha sobrinha, e eles não se recordavam de tê-la visto. Havia muitas moças trabalhando nos restaurantes à beira-mar.
Não havia levado guarda-chuva, e o lenço na cabeça não me protegia da chuva. Passei por veleiros e iates graciosos, cobertos com lona plástica, por causa do inverno.
Vi pilhas de âncoras enormes, quebradas e comidas pela ferrugem. Havia pouca gente na rua, mas vários locais estavam abertos; só percebi que era dia das bruxas quando vi, nas vitrines do Brick Market Place, os fantasmas, duendes, monstros e outras criaturas pavorosas.
Caminhei por horas nas calçadas de pedra da rua Thames, olhando as vitrines das lojas, que vendiam de tudo, de entalhes a obras de arte. Entrei na rua Mary e passei pelo Inntowne Inn, onde o recepcionista nunca tinha ouvido falar em minha sobrinha. Ninguém a conhecia no Christie’s, tampouco, como soube ao tomar café na frente da janela que dava para a baía de Narragansett. As docas estavam molhadas e pontilhadas do branco das gaivotas, que olhavam todas para o mesmo lado. Observei duas mulheres que saíam para olhar o mar. Estavam encapotadas, com luvas e gorros, mas algo em seu jeito me fez pensar que eram mais do que amigas. Comecei a me preocupar com Lucy novamente, e levantei-me.
Entrei no Black Pearl de Bannister's Wharf, no Anthony's, no Brick Alley Pub, no Inn de Castle Hill. O pessoal do Café Zelda de Callahan e num lugar esquisito que vendia strudels com creme não me ajudou em nada. Percorri tantos bares que me perdi, e acabei entrando em alguns mais de uma vez. Nenhum sinal dela. Ninguém sabia de nada. Achei que nem se importavam, na verdade, e caminhei desesperada ao longo de Bowden Wharf, enquanto a chuva piorava. A água jorrava do céu cinzento, e uma senhora, ao passar, sorriu para mim.
“Minha cara, não se desespere”, ela disse. “Tudo se ajeita.” Eu a vi entrar na Aquidneck Lobster Company, no final do cais, e resolvi segui-la, pois ela se mostrara gentil. Ela estava numa saleta envidraçada, embora os vidros estivessem tão cobertos de notas e papéis que eu só conseguia ver suas mãos e os cachos de cabelo descolorido no meio da papelada.
Para chegar até ela passei por tanques esverdeados, do tamanho de barcos, cheios de lagostas, caranguejos e mariscos. Eles me lembravam o modo como guardávamos as macas no necrotério. Os tanques formavam pilhas até o teto, e a água do mar que era bombeada para tubulações no alto os enchia até vazar para o chão. O depósito de lagosta era barulhento como uma tempestade e cheirava como o mar. Homens em aventais cor de laranja e botas de borracha de cano longo tinham rostos castigados como as docas e conversavam aos gritos.
“Com licença”, falei, na porta do pequeno escritório, e não sabia que havia um pescador com a mulher, pois não o vira. Tinha mãos vermelhas, calosas, e fumava sentado numa cadeira plástica.
“Meu bem, você está ensopada. Entre, venha se esquentar um pouco.” A senhora, gorda e ativa, sorriu novamente. “Quer comprar lagosta?” Ela começou a se levantar.
“Não”, respondi imediatamente. “Procuro minha sobrinha. Ela saiu, e nos perdemos. Estou atrás dela. Bem, pensei que podiam ter visto a moça.”
“Como ela é?”, o pescador perguntou.
Eu a descrevi.
“Mas onde foi que a viu pela última vez?” A mulher parecia confusa.
Respirei fundo, e o sujeito entendeu tudo. Ele percebeu qual era a situação. Vi isso em seus olhos.
“Ela fugiu de casa. Os jovens fazem isso, às vezes”, ele disse, dando uma tragada no Marlboro. “Bem, o problema é saber de onde ela fugiu. Conte, talvez eu possa ter uma ideia de onde ela está.”
“Ela estava em Edgehill”, falei.
“E acabou de sair?” O pescador era de Rhode Island, e as últimas palavras soaram como se pisasse nelas.
“Ela foi embora de lá.”
“Ou seja, ela não se adaptou ao tratamento ou o seguro saúde não quis pagar. Acontece muito, por aqui. Vários amigos meus estiveram lá e precisaram sair depois de quatro ou cinco dias, pois o seguro saúde não quis pagar. Não presta para nada.”
“Ela não se adaptou ao tratamento”, falei.
Ele levantou o boné e ajeitou o cabelo preto desgrenhado.
“Você deve estar morrendo de preocupação”, a mulher disse. “Vou fazer um café.”
“A senhora é muito gentil, mas não precisa se incomodar.”
“Quando eles saem antes da hora, desse jeito, geralmente começam a beber e a tomar drogas de novo”, o sujeito falou. “Odeio dizer isso, mas é o que acontece. Ela provavelmente está trabalhando num bar, de garçonete, para ficar perto da bebida. Os restaurantes daqui pagam bem. Eu tentaria o Christie's, o Black Pearl em Bannister's Wharf, ou o Anthony's, em Waites Wharf.” “Já estive em todos eles.”
“E quanto ao White Horse? Ela pode ganhar bem, lá.”
“Onde fica?”
“Para lá.” Ele apontou para o lado oposto à baía. “Depois da rua Marlborough, perto do Best Western.”
“E onde alguém se hospedaria?”, perguntei. “Ela não pode pagar muito.”
“Bem”, a mulher falou, “vou dizer o que eu faria. Iria ao Seaman's Institute. Fica logo ali. Vai passar na frente, é só seguir direto.” O pescador balançou a cabeça, acendendo outro cigarro. “Pronto. Será um bom começo. Eles empregam moças, também. Como garçonetes e na cozinha.”
“Que tipo de lugar é esse?”, perguntei.
“Um lugar para pescadores em maré de azar ficarem. Uma espécie de albergue da YMCA, só que menor. Tem quartos no andar de cima, um salão de refeições e uma lanchonete. Pertence à igreja católica. Fale com o padre Ogren. Ele é o padre de lá.”
“Por que uma moça de vinte e um anos iria para lá, e não para um dos outros lugares que vocês mencionaram?”, perguntei.
“Ela não iria”, o pescador falou, “a não ser que quisesse ficar longe da bebida. Lá não se pode beber.” Ele balançou a cabeça. “É o melhor lugar para alguém ir, quando larga um tratamento mas não quer mais se drogar nem beber. Conheço vários caras que fizeram isso. Eu mesmo já passei um tempinho por lá.” Chovia tão forte quando saí que a água batia no chão e saltava de volta para o céu líquido. Estava ensopada, faminta, com frio, sem ter para onde ir, ou seja, na mesma condição de muita gente que procurava o Seaman's Institute.
O lugar parecia uma igrejinha de tijolo, com um aviso do lado de fora, escrito a giz numa lousa e uma faixa com os dizeres: TODOS SÃO BEM-VINDOS. Entrei e vi homens sentados no balcão, tomando café, enquanto outros conversavam nas mesas de um salão despojado, que começava na porta da rua. Alguns olhos me observaram, um tanto curiosos, e as faces retratavam anos de tempestades e bebidas fortes. Uma garçonete, que não seria mais velha do que Lucy, perguntou se eu queria comer.
“Procuro o padre Ogren”, falei.
“Não o vi por aqui, mas pode dar uma olhada na biblioteca ou na capela.” Subi a escada e entrei numa pequena capela vazia, exceto pelos afrescos de santos pintados na parede revestida de gesso. Era uma capela bonita, com painéis de madeira com motivos náuticos e piso de caco de mármore formando desenhos de conchas. Parei, imóvel, observando um são Marcos apoiado num mastro, enquanto santo Antônio de Pádua abençoava as criaturas do mar. Santo André carregava uma rede e havia versículos da Bíblia decorando a parte superior da parede: Pois Ele fez com que a tempestade cessasse, e as ondas permaneceram imóveis. Então eles se regozijaram, pois descansaram, e Ele os conduziu ao paraíso desejado.
Mergulhei as mãos numa concha imensa cheia de água benta, e me benzi. Orei durante algum tempo na frente do altar e coloquei esmolas numa cestinha de palha. Deixei um dólar por Lucy e por mim, e uma moeda de um quarto por Emily. Do outro lado da porta ouvi vozes alegres e assobios dos residentes, na escada. A chuva no telhado assemelhava-se a alguém batendo um colchão; para lá das janelas opacas as gaivotas piavam.
“Boa tarde”, disse uma voz suave, atrás de mim.
Voltei-me e vi o padre Ogren, vestido de preto.
“Boa tarde, padre”, falei.
“Você deve ter andado muito na chuva.” Seus olhos eram tranquilos, o rosto muito calmo.
“Procuro minha sobrinha, padre. Estou desesperada.” Não precisei falar muito a respeito de Lucy. Na verdade, mal a descrevi, e o padre já sabia de quem se tratava. Meu coração se abriu como uma rosa.
“Deus é bom e misericordioso”, ele disse, sorridente. “Ele a trouxe aqui, como trouxe outros que se perderam no mar. Ele também nos trouxe sua sobrinha há alguns dias. Creio que ela está na biblioteca. Trabalha lá, por orientação minha, catalogando os livros, fazendo outras coisas também. Ela é muito inteligente e tem ideias maravilhosas para informatizar tudo.”
Encontrei-a na frente de uma mesa de refeitório, numa sala mal iluminada, revestida com painéis de madeira escura e estantes cheias de livros velhos. Estava de costas para mim, trabalhando num programa em papel, na falta de computador, como músicos geniais compõem sinfonias em silêncio. Emagrecera, pensei. O padre Ogren tocou meu braço, ao sair, e fechou a porta discretamente.
“Lucy”, falei.
“Tia Kay? Minha nossa”, ela disse no tom baixo das bibliotecas. “O que está fazendo aqui? Como me encontrou?” Seu rosto estava corado e havia uma cicatriz vermelha na testa.
Puxei uma cadeira e segurei sua mão entre as minhas.
“Por favor, volte para casa comigo.” Lucy continuou a me encarar, como se eu tivesse voltado dos mortos.
“Seu nome está limpo.”
“Completamente?”
“Completamente.”
“Você conseguiu dar um jeito.”
“Eu disse que daria.”
“Você é o máximo, tia Kay”, ela murmurou, desviando a vista.
“O FBI aceitou que Carrie a enganou”, falei.
Seus olhos se encheram de lágrimas.
“O que ela fez foi horrível, Lucy. Sei o quanto você está magoada e ressentida. Mas agora está tudo bem. A verdade prevaleceu, e o ERF quer você de volta. Vamos dar um jeito no seu processo. O juiz mostrará mais compreensão quando souber que alguém a tirou da estrada, e temos provas disso. Mesmo assim, gostaria que continuasse o tratamento.”
“Pode ser em Richmond? Posso ficar com você?”
“Claro que pode.” Ela olhou para baixo, e as lágrimas escorreram pela face.
“Não queria feri-la, mas precisava perguntar. “Você estava com Carrie naquela noite, na área de piquenique, quando a vi. Ela fuma.”
“Às vezes.” Ela limpou os olhos.
“Lamento muito.”
“Você não entenderia.”
“Claro que entendo. Você a amava.”
“Ainda amo.” Ela começou a soluçar. “Foi uma tremenda estupidez. Como pude? Mas não posso evitar. E o tempo inteiro...”, ela assoou o nariz. “E o tempo inteiro ela estava com Jerry, ou outro cara. Ela me usou.”
“Ela usa todas as pessoas, Lucy. Não foi apenas você.”
Ela chorava, como se não fosse parar nunca mais.
“Entendo o que sente”, disse, abraçando-a. “Não se pode parar de amar alguém assim, sem mais nem menos, Lucy. Leva tempo.” Abracei-a por muito tempo, e meu pescoço ficou molhado com suas lágrimas. Apertei-a até que o horizonte tornou-se uma linha azul-escura na noite e depois fizemos sua mala no quarto espartano que ocupava. Caminhamos pela calçada revestida de pedra, cheia de poças, passando pelos enfeites do dia das bruxas que brilhavam nas vitrines, enquanto a chuva começava a congelar.
Patricia Cornwell
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















