



Biblio VT




Sendo um livro da juventude do autor, contém, no entanto, os elementos que viriam a consubstanciar-se numa das obras mais importantes da literatura portuguesa contemporânea, porventura a mais pujante.
Segundo um poeta árabe, a cada gesta deve corresponder um bardo, pois a glória sem poesia é uma terra árida e sem sentido.
Sem Alves Redol, a epopeia do povo das campinas ribatejanas, a glória da sobrevivência, da luta contra os dragões da miséria, permaneceria obscura e ignorada.
E em Marés o grito dos homens vai na direcção do futuro, tomando toda a estrada, caminhando no sentido oposto ao daqueles que desistiram de ser homens.
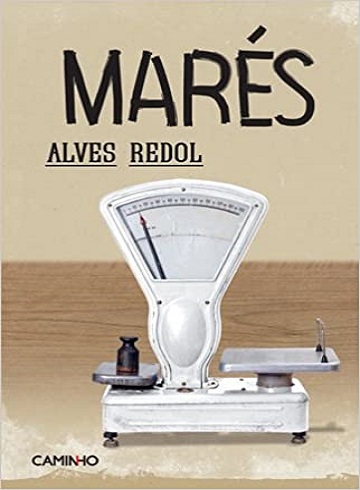
Onze mundos
Era uma fila de homens a puxar uns pelos outros, num desafio de esforço - camisas transparentes de suor, pernas abertas, troncos em vaivém.
Todo o dia no mesmo ardor, ainda o Sol não se moldara em disco. O alqueive marcava-lhes a jornada encosta acima.
A noite vinha a envolvê-los já das suas sombras, amaciando o contorno das árvores, dos casais e dos cabeços. E eles caminhavam, sacudindo dos pés a terra revolvida pelos bicos
das enxadas.
Era uma fila de homens. À frente deles, um, de costas direitas, apoiava as mãos num cajado, e ia recuando, como a fugir ao avanço das alfaias. Os seus passos eram sofismados,
porque sabia que os homens o tinham por mira e lançariam os braços com mais vigor, se vissem a distância aumentar.
Sabia do seu ofício, aquele que estava à sua frente, como um espantalho de fadigas, negaça de energias.
Eles bem conheciam o segredo dos seus passos. Eles não ignoravam porque o patrão o pusera ali, de costas
11
direitas, a forrar mais jorna. Mas não havia tempo para pensar, pois os camaradas de ilharga tinham êmbolos nos braços e feriam a leiva até ao olho da enxada. Era cava funda
que pedia pessoal de sangue na guelra e não olhava a cansaços. As horas de comida e as quatro fumaças davam bem para enganar os olhos e passar o lenço pela fronte e pelo pescoço.
Logo, de pronto, cuspo nas mãos, dedos bem enganchados no cabo, braços acima, braços abaixo, e mais horas sem uma palavra, sempre naquele labutar.
Para cava de surriba nem todas as enxadas tinham unhas. Nas praças poucos pegavam nesse trabalho. Os caseiros acenavam mais uns reais, mas nem assim os homens se chegavam.
- Oito vinténs e água-pé!...
De todos os cavadores por alugar só aquela fila viera. A jorna no João do Parcel era sempre compensada. O Tóino do Sobralinho bem o dissera na sua, galhofando aos companheiros
nas tabernas do lugar:
Quem trabalha no João do Parcel, Ganha a jorna, mas deixa a pele.
Os homens riam-se da graça e acenavam a cabeça a confirmar. O Tóino do Sobralinho falava por todos. A sua enxada é que nunca mais lá rasgou terra.
Era uma fiada deles a pingar suores, cada vez mais bastos. Bocas cerradas para esconder o arfar, braços mecanizados naquele caminho sempre igual e sempre mais longo. O baque
dos ferros repercutia-se pelo vale fora.
Os homens só olhavam os pés do que lhes ia à frente. Não tinham olhos para os companheiros.
Pelas redondezas se saberia quem era o melhor cavador.
12
Estava ali o Francisco Queimado e já havia as suas teimas com o Pataca. E os dois naquela luta arrastavam os outros. Era um galardão que jogavam entre si. O caseiro metera-os
no meio da fila, lado a lado, para que ninguém arrefentasse. E os bicos das alfaias mal lucilavam ao sol.
- Ói!... Ói!...
O caseiro ia recuando, a afastar o fim do caminho, enganando os olhos dos homens. Os dois, no meio da fila, dentes com dentes, cabeças cheias daquele anseio, não davam tréguas.
O choque das enxadas incitava-os sempre.
As cruzes despedaçadas pela moinha, as mãos vazias de ímpetos, as pernas vergadas de cansaços.
- Ói!... Ói!...
- Essas enxadas bem ao fundo!...
E os ferros caíam com mais ímpeto e abalavam todo o corpo.
Ninguém erguia o tronco. Quem se torcesse, dava chacota na taberna. Aquele sabia do ofício e incitava-os. Não eram companheiros - puxavam uns pelos outros como inimigos. Depois
se diria quem era o melhor cavador.
- Estás-te a ficar, ó Zé!... Eh, Anselmo!...
Os músculos tremelicavam, sacudidos, como tomados de frio. O peito aberto e descarnado, como se a enxada o tivesse fendido. Mãos em fogo - olhos sem luz. Mas ninguém cedia.
- Ói!... Ói!...
A noite vinha chegando. O Sol naufragara já.
O moinho na sua cantilena triste, a lamentar o esforço dos homens. E eles nada ouviam. Aquela obsessão tomara-os e esqueciam-se de que eram companheiros - que venciam a mesma
jorna e tinham choupanas irmãs.
13
Nem que rebentassem dariam de mão. Sempre para a frente. Cava bem funda em terra virgem.
Abandonado no meio do alqueive, lá atrás, o cântaro da água-pé que lhes matara a sede. E o caseiro sorria a vê-los na lufa-lufa. Entretinha os olhos encosta abaixo, deixando-os
correr na serpentina da estrada que se perdia num valado, e surgia, mais adiante, até morrer na outra encosta. A volta da seiva avermelhara a ramada das videiras do Pio. Mas
tudo se ia fundindo na mesma incerteza de sombras - só as enxadas se moviam ainda, gemendo o esforço dos homens.
-Óil... Ói!...
Pior que luta cara a cara. O Francisco Queimado era da Arcena e o Pataca do Sobralinho. Por isso as ganas eram maiores naquele despique de cava de surriba.
Nunca mais se tinham visto com bons olhos, desde aquela festa de S. Pedro em que os homens varreram o adro a cacete. Já lá iam anos e o ódio passara gerações, adormecido por
meses, logo desperto se se encontravam.
A romaria chamara gente de toda a banda - de Bucelas e de Arranho, de Á-dos-Potes e de Vialonga. A procissão já recolhera, com anjinhos e penitentes, suados e mancos das caminhadas.
Foram as moças para o adro e os homens para a taberna.
Armaram-se rodas por toda a parte. Aqui um bailarico, mais adiante um verde-gaio - tudo rodopiava. Os pés erguendo poeiras que as sécias novas das raparigas iam vasculhando
no ar. Os de Alverca não cabiam de vaidade, que outra festa não se fazia por ali que metesse mais povo e mais música e foguetório. Só os de Bucelas pediam meças com o seu
Anjo Custódio, muito mais milagreiro e devoto das moças. Era um pedaço de homem, aquele Anjo Custódio. Bonito e forte que nem S. Jorge. Por isso as raparigas o amavam mais
que a
14
S. Pedro, nas suas barbas brancas e nas suas vestes castas.
Mas havia música e ninguém parava. Não havia tempo para recordar o outro. Só os de Bucelas resmungavam e sorriam desdenhosos. O vinho abençoava tudo. E pela tarde adiante,
e noite fora, se bailaria sem dar fôlego, que no resto da semana o corpo só se ergueria para o trabalho.
As tristezas não vinham até ali. Alverca fica num altinho e aos pesares custava-lhes subir aquela encosta. Não fossem os pedintes nos seus carpires, mostrando aleijões, e
ninguém se lembraria de que, àquela hora, pelo mundo muitos olhos teriam lágrimas. Todos os tinham enxugado, para vir à festa mais galharda da Borda-d'Água. Blusas e saias
novas mais garridas que os campos. Calças de pestana e jaquetas de alamares, mais negras que tições.
O adro cheiinho que nem um ovo. As tabernas a deitar por fora.
No ar, dizendo alegrias pelas quebradas além, o estralejar dos foguetes.
Mas num momento tudo se abalou. As rodas desfizeram-se. Atropelos e gritos, imprecações e quedas. Coxas descompostas e olhos gulosos a mirá-las de fugida. Como se ali tivesse
vindo um daqueles toiros negros, nervosos e anafados, de pontas finas e bragas saídas, que Santa Sofia, do alto da sua capela, pastava na lezíria de Vila Franca.
Havia zaragata. Os cacetes matraqueavam em desafios de presteza. E a notícia correu. O Zé Berloques, do Sobralinho, pegara-se de razões com o Manel Safado, da Arcena. Cada
griipo ao seu lado, tragando-se de olhares e cruzando os marmeleiros. O adro foi varrido de música e bailaricos. Ficaram eles, cara a cara.
15
Desde aquele S. Pedro puseram-se de porrete à esquina uns com os outros. O ódio passara gerações e rebentava por dá cá aquela palha.
Agora se ficaria sabendo quem era o melhor cavador. O Francisco Queimado e o Pataca, lado a lado. E os outros a acompanhá-los naquela fúria de cavar mais. Braços em argola
unidos no cabo da enxada, ora emoldurando as cabeças, ora tombando com vigor a descarregar o ferro.
- Ói!... Ói!...
O caseiro deixava-os ir, embalados no despique. Sol-posto há pedaço e os olhos cegos.
- Essas enxadas bem ao fundo!... Eh, Anselmo!...
-'Vá fora!...
Quando ergueram as cabeças, não tiveram um olhar irmão para o caseiro. Os dois ficaram lamentando que o Sol não nascesse já, para se irem outra vez à cava até um deles arriar.
Arfavam, peitos às upas breves, lábios franzidos de cansaço. O suor pingava-lhes nas camisas repassadas. Ficavam sem um movimento, como tocados de êxtase. As enxadas ao lado,
adormecidas.
Silêncio à volta. Dentro deles a anarquia da fadiga - cabeças bramando recalques que lhes corriam nas veias entumecidas. Tomados por inteiro daquele pensamentto, sem um clarão
de luz que os chamasse à vida. Não eram companheiros - inimigos desde aquela festa de S. Pedro.
Nem uma palavra que quebrasse ódio tamanho. Mesmo que todos fossem de Aroma ou só do Sobralinho, ficariam assim. É que nas tabernas se diria quem cavara com mais vigor, enterrando
a enxada até ao olho. E nisso todos queriam meças, que os patrões bem sabiam procurar os mais safos de braços.
16
O caseiro tomou o caminho, encosta abaixo, saltitando nos torrões. Pegou no cântaro e foi-se, assobiando. Os homens seguiram-no, de enxada ao ombro, mento sobre o peito.
O moinho a carpir pesares. Ouviam-no, agora. Mas não compreendiam que o moinho os lamentava. Quando velhos, talvez o percebessem. O Tóino do Sobralinho ensinara o seu dito
aos búzios:
Quem trabalha no João do Parcel, Ganha a jorna, mas deixa a pele.
Por isso não ia ali com eles.
Quando chegou à encruzilhada do carreiro, o capataz gritou-lhes: "Se quiserem mais uma pinga..."
E os homens enfiaram para a banda do casal, onde uma luz escorria pelo quadrado do postigo.
- Eh, Maria!...
Uma cabeça cortou a luz.
- Traz a chave da adega!... Esta gente vem de goela seca e há que molhá-la.
As brochas dos sapatos matraqueavam os seixos da rua. Na parreira nem um cacho já.
- Boa noite, Sr.a Maria!
A lanterna trouxe um clarão. A porta gemeu nos gonzos.
- Vá pra dentro!...
O primeiro que entrou raspou as brochas na soleira e desbarretou-se.
- Aqui não há santos, homem. Põe lá o carapuço. O canjirão andou de um para outro a animar as bocas.
Olhares atravessados - nem palavra entre eles.
- Para o ano ninguém conhece aquilo. Tenho fé que dá ali uma terra de semeadura...
17
- Lá isso...
Cá fora rufiaram asas. A Sr.a Maria veio espreitar, consertando o lenço.
- Vai mais uma pinga?...
--Está em boa mão, Seu Jaquim! Por mim não vai mais nada.
Foram saindo.
- Deus os acompanhe!...
- Obrigado. Boa noite!
- Boa noite!...
Meteram carril fora, direitos ao portão. O cão ladrou-lhes, arrastando a corrente.
- Boiça! Caluda!
Estrelas a formigar no céu. Onze homens - onze mundos isolados. Enxada ao ombro, passo largo a galgar a estrada, cada um com as suas incertezas. Não eram companheiros. Caminhavam
lado a lado, mas não se sabiam compreender.
Um deles assobiou. Os outros bateram mais os pés para vencer a melodia. O assobio ganhou estridências de melro.
Os do Sobralinho à frente, os de Arcena atrás. Naquela encruzilhada tomariam rumos diferentes.
Puderam, então, achar palavras. E as gargalhadas ficaram-se a desafiar, quebrando a mudez da noite. Os grilos fizeram-lhes companhia.
- Aquela torre do Francisco Queimado a julgar que os homens se medem pelo tamanho.
- Rapou e levou nas ventas.
- Ainda há-de ganhar dois dobros para se desembaraçar com a enxada.
- Fez fama!...
- Lãzudo! Ali à finca...
18
- Nem que a terra tivesse oiro, aquele danado cavava com mais ralé. E tu a gostares da brincadeira.
--Se te parece... Nem que arrebentasse ali.
Foram-se dividindo. Por aquele carreiro iam só dois. O Zé Arrepiado sempre de trela pronta para falazar. Não lhe dava troco o companheiro, que os pensamentos lhe bastavam
para entreter viagem.
- O Pataca não se fica. Parece um cepo, mas tem um bocado de gente lá dentro, o filho da mãe!...
O outro desenfiou a asa da cesta do cabo da enxada e passou-a para a mão.
"Chegar a casa, engrolar a ceia e toca outra vez. Enquanto houvesse forças, não havia outro remédio."
Dos muros caíam sombras de oliveiras, como de gente especada numa surtida de despique. Restolhada nas vinhas e ladrares de cães nos portões dos casais.
- Ninguém se ficou atrás. Assim é que é. Julgava que tinha homens de lama à banda e a lebre sujou-lhe na carreira.
Um cão arremeteu de cima de uma moita e ficou-lhes a rosnar quando os homens lhe falaram. Depois silêncio.
Luzes espalhadas amarinhando na encosta, e até Alhandra, e para lá do rio. Uma estrada de luz, o Tejo. Passou uma vela naquele poalho e ficou encharcada de luar.
-Que boa noite, ó João Diogo!...
O outro acenou-lhe com a cabeça e não disse palavra. Os pensamentos tomavam-lhe o peito. Aquela ideia bastava-lhe para companhia. Era a realização de um sonho de muitos anos.
Antes de casar já o desejava e lá iam doze. Doze anos!...
- Vais a modo ausente, home! Estou a falar prós mortos, ó quê?!... Olha que ainda não parei e tu nem meia.
19
- Vou cá a pensar na vida.
- Não penses nisso que perdes a bola. É andar prà frente e não lhe dar de mão. Quanto mais se aparafusa...
A pederneira faiscou e o Zé Arrepiado acendeu a ponta.
- É como isto. Dizem que faz mal ao peito, e às algibeiras. Há para aí outros que não gastam e ainda não vi que deixassem de trabucar. Mas se andassem de costa direita, não
era a mim que isso enzonava.
- É coisa má pensar na vida, lá isso... Mas se não for a gente que lhe dê voltas, dos outros não vem sombra.
O companheiro continuou a pairar e ele voltou para si. Subiam a azinhaga que dava ao moinho; depois era deixar as pernas levarem-se pelo peso do corpo até casa.
A noite tinha vencido o branco das velas e o seu girar mal se distinguia. Só os lamentos devassavam tudo, penetrando as coisas daquela tristeza que o seu canto entoava. Um
moleiro ouviu os passos dos dois homens e veio à porta, farto de escutar as mós e respirar farinha. Denunciou-o a brasa do cigarro.
- Boa noite, Seu Abílio.
- Eh, lá, gente!...
Se a ceia não esperasse e o estômago não a agradecesse, ficaria ali a desenferrujar a língua. Fazer jornada com companheiro mudo era decorar o tempo, sempre tardo em passar
se dava alguém em desejá-lo breve. E o moleiro louvaria graças de ter parceiro para dois dedos de conversa.
- Vá de volta que a malga está à espera!
- E fica alta; mal lhe chego. É quase ceia de nariz. O outro sempre adiante, a desfiar pensamentos. "Chegar a casa, sopas voltadas e toca para a faina."
- Tenho lá dois sacos de milho para lhe mandar. Quando vai fora isso?
20
- Manda, homem, manda. Dá-se-lhe um jeito.
- E conta nessa maquia, que vocês ficam com a melhor parte.
- Para os amigos já sabes... É sempre a dobrar. Se não forem eles...
Riram.
- Boa noite, cá me vou! Aquele diabo está com um engodo na ceia...
- Boa noite!... E não tropeces por aí, que o caminho é de cabras.
Abalou carreiro abaixo, assobiando. O camarada, lá à frente, metido com os seus pensamentos
21
LAR
SENTOU-SE no mocho, baixou a cabeça e foi comendo. O fumo da sopa acariciava-lhe o rosto e embaciava-lhe a vista. Metia a colher à boca, engrolava duas vezes o pão de milho
e as couves, para os arrefentar, e toca abaixo.
A mirá-lo, no seu olhar humilde, a mulher ficara de pé, mãos apoiadas aos bordos da mesa.
Na lareira, o brasido amorrinhava. A luz da candeia lambia a parede do seu lume incerto. Sombras agitadas. Para lá tudo confuso. No armário só o vidrado dos pratos floridos
marcava presença.
A colher começou a traquinar na malga.
- Queres mais, João?
Acenou a cabeça. Não levantou os olhos. Aquela ideia tomava-o. Esqueceu-se a juntar as migalhas de pão, num monte. Fez aquilo distraído, mas reparou depois que fizera um símbolo.
"Juntar para os dois... Deixar-lhes uma casa e um bocadinho..." Ergueu a vista e procurou-os. Lá estavam na lareira, aconchegados um ao outro, olhando-o também. O encontro
reanimou-o. Sorriu-lhes. A companheira afagou-lhe
22
a mão com a sua mão áspera. Não a sentiu mulher -- era um alento dos filhos.
De fora, veio um grunhir da marra. Responderam-lhe balidos de ovelhas. Safou a mão, pôs a colher de lado e virou o caldo da malga.
- Mais um bocadinho, João?!... Vens tão cansado! Não a ouviu.
- Não estava bom ?!...
- Estava, mas não quero.
E puxou-a a si. Ela tacteou-lhe a camisa.
- Tão encharcado... Parece que te choveu em cima. Encolheu os ombros e arrepanhou-a mais. Não a sentiu mulher. Os filhos miravam-no do banco da lareira.
- Foi trabalho de esfola. Aquele Francisco Queimado e o Pataca que nem para se matarem, os ladrões!
Silêncio.
Uma rajada de norte assobiou nas frinchas do telhado.
- E um homem não se pode ficar. Se arreia, é segada. E para a outra vez...
- Bem diz o Tóino...
Ela desprendeu-se e foi levantar a cafeteira do brasido. A Rita largou o irmão e trouxe o alguidar gatado.
- Estás uma mulher.
- Vê lá se o partes...
A garota fincou mais as mãozitas e encostou-o melhor ao peito. Sorriu-se vaidosa a olhar o irmão. Ele embezerrou, despeitado.
- Da outra vez não fui eu que o parti.
Ele quis justificar-se, mas as palavras baralharam-se; Sentiu que um calor o tomava todo e tinha as orelhas em fogo. Baixou a cabecita, começou-lhe um formigueiro nos olhos,
os lábios estenderam-se e chorou.
23
Voltou costas a esconder a sua fraqueza. Queria estancar as lágrimas, mas cada vez as sentia correr mais. E o seu corpo abalou-se, vencido por tamanha mágoa. A mãe compreendeu-o.
Era um menino de vidro, aquele Francisco. Branco que nem uma freira; débil que nem um fidalgote. Não saía ao pai.
-- Um homem a chorar...
A irmã espreitou-o do outro canto da lareira. Enraiveceu-se. Esperneou. Rouquejou as suas iras. "Se o pai não estivesse ali, chamava-lhe um nome que o João da Mouca lhe ensinara.
Mas não perdia. Amanhã lho havia de dizer mais de dez vezes. Dez vezes!... Era capaz de contar até dez e ela não. E já sabia fazer o nome: Francisco da Silva Diogo. A letra
mais bonita era o D com aquela volta redondinha."
Foi-se acalmando a pensar na escola. A mãe começou a cantarolar. Voltou-lhe a ira.
- Que foi, homem? O raio do rapaz! Olha que tu... O pai levantou-se e foi buscá-lo. Meteu a cabeça entre
os braços, a soluçar mais, mas confortado com aquele contacto.
--Que foi, homem?!...
- A mãe está a fazer pouco...
E fungava, passando as mãos pelos olhos. O pai riu-se.
- Ora tu, um homem... Pareces um caganeira!
- Pois a mãe está a cantar... Aquilo é de troça. E a Rita está a olhar para mim...
- Deixa lá, homem. Não t'amofines. -Também eu sei ler...
- Pois então!... Diz-lhe dessas.
E, por cima da sua cabecita tombada, sorria para a companheira.
- Já faço o meu nome e o do pai. Só para não ser assim, não aprendo a escrever o nome dela.
24
- Pois então! Para não se fazer fina.
E afagava-lhe os cabelos, a encavalitarem-se nas orelhas.
- Mas não chores, homem. Deixa lá!... Espaçaram-se os soluços. Foi limpando as lágrimas
com as pontas dos dedos e distraiu-se a contar os riscos de um remendo do colete do pai.
"Doze de uma banda. Seis da outra. Pareciam os quadradinhos do caderno de desenho. Quando fosse capaz de fazer a cafeteira, como o Mouco, havia de lha mostrar. Então, era
vê-la roída de inveja. Estava a ouvi-la: 'Dá-me, Francisco!' E ele: moita, carrasco. Para saber como elas são."
A água chapinhava nos pratos, que traquinavam no alguidar, onde a mãe os escorria.
- Sempre fogo-que-fogo para mexer em tudo, esta rapariga.
Furou o olhar por baixo do arco do braço e viu a irmã, de pano branco na mão, à espera que a mãe a deixasse limpar a loiça. Dois bandós de carrapiços a cada lado da cabeça.
Vestido de chita com flores azuis.
- Quando chegar à altura de me ajudar, é capaz de se fazer esquerda. Tira-me para aí o aço ao espelho a embonecar-se. Quando começam a olhar para a sombra...
Uma gargalhada do pai estremeceu-lhe o corpo. Alçou a vista e viu-o distraído a puxar o pano do barrete.
Encontrou os seus olhos com os da irmã. Monco caído que nem um peru. Pano branco nas mãos inquietas. Um rubor na cara.
Sorriu-lhe de troça.
"Se o pai não estivesse ali... Rita, caganita, bacalhau, sardinha frita. Sardinha frita!... Eh, sardinha frita!"
Ela adivinhòu-lhe os pensamentos, vagueou o olhar à volta e deitou de fora, rápida, a ponta da língua.
25
- Olhe ela!...
- Ora a seringação!
Um aceno da mãe fê-la recuar, levando as mãos à cara. Exultou. "Que pena não lhe ter dado."
- E esse menino de oiro anda a pedir uma sova... Oh que sova!
A irmã riu-se. Sem querer, começou a fungar e os soluços a subirem-lhe no peito. Água nos olhos. Tremores no corpo. Queria fazer-se forte, mas não podia. "Ainda se lhe dissesse
os nomes todos que tinha na boca..."
- É escrito e escarrado o tio Manuel. Lágrima no olho por tudo e por nada.
Riram-se. Chorou mais.
- Lá estás tu outra vez.
- L, de banha, o rapaz; derrete-se ao sol.
- Não vês que estamos a rir da tua irmã, homem? Ora tu!... Quase capaz de casar e toca na vira...
- Não quero!... Não quero!...
- O quê, homem?!...
- Casar.
- Pronto, não casas. Ficas pra frade.
"Todos faziam pouco dele. Não queria casar, mas também não queria ser frade. Gostava de crescer, ser homem e pegar num cacete como o Dionísio. E então pagaria quem se risse
dos seus choros. E diria como ele: ouve lá, ó valentão!... Media-os de alto a baixo, puxava acima as calças derreadas, um salto atrás, porrete no ar... Quem as tem é quem
as joga! E ia tudo num sarilho. Assim é que queria ser."
A marra grunhiu mais no chiqueiro. Do redil, as ovelhas responderam-lhe em balidos tristes.
- Também aquelas... Todo o dia no pasto e sempre a berrarem, as danadas. Não há comer que as vede.
26
A Rita estava nas suas sete quintas. Já tinha ordem para limpar a loiça e esfregava os pratos com o pano. Mirava-lhes o espelho do vidrado e apurava-se mais a querer dar-lhes
deslumbramentos. Ia à prateleira, punha-se nos bicos dos pés, arrumava-os e ficava-se depois a vê-los de largo.
"Era o mais bonito que lá havia em casa. Os pratos e a jarra azul da cómoda do quarto. Até o branco de fateixa no meio, e que levara dois gatos, era bonito. Aquelas duas mazelas
davam-lhe graça. E então o de flores encarnadas!..."
Passava o dia a desejar aqueles momentos. Poder esfregá-los com o pano e ver-se no seu vidrado. O pai gostava da malga de barro. Assim a modos encarniçada, lambida de um amarelo
de feno velho. Garfos de ferro com dentes tortos. Colheres de folha tocada de negrumes.
A mãe despejou a água da loiça no caldeiro com restos de comida, amassou-lhe umas sêmeas e desapareceu no escuro da noite. A marra desordenou-se nos grunhidos. Depois atolou
o focinho na lavadura e o seu rouquejar embrandeceu.
- Uma sôfrega, aquela bruta. Quanto mais gorda, mais esfomeada.
- Viste a noite?!
A porta gemeu nos cachimbos. Pôs um pé no pial e ficou-se a olhar para fora.
Noite de estrelas. Luar aberto. Um frio agudo a zurzir-lhe o corpo. Queixas nas ramadas da figueira.
- A Lua já deitou a cabeça. Há por ali uns papos de pomba...
O lume da candeia dançou mais com o bafo da rua. Inquietaram-se as sombras. O fumo lambeu a parede e carregou o ambiente do seu cheiro.
- Vais sair?
27
- Vou lá abaixo.
Distraiu os olhos pela mesa e o monte de migalhas pareceu-lhe um símbolo. Afastou o filho, afagando-lhe os cabelos, e espreguiçou-se. O garoto amarrou o burro às costas da
cadeira. A irmã sentara-se no pial da lareira, esfregando as mãos.
- Quase me rebentavam, os brutos.
- Vai-te deitar, homem.
Um olhar levou-lhe censura. Ela baixou o seu e compreendeu-o. Foi-se à lida, a cantarolar baixo.
- Já vai tardo aquele bocado sem alqueive.
Abriu os braços a escorraçar fadigas e sentiu os músculos endurecidos e dormentes. No quadril a moinha minava ainda. As pernas com ganas de se derrearem. Todo o corpo a agradecer
enxerga...
- Leva o casaco, João. Ainda estás molhado... Apalpou o peito. A camisa húmida da labuta do dia.
Chegou-lhe ao nariz o cheiro do suor. Desceu o barrete à testa e afagou o cabo da enxada com a mão ardida do seu contacto. A mulher estendeu-lhe o casaco. Enfiou-o de um lado
e a outra manga rojou no chão.
- Isto não dá jeito, Ludovina. Albarda só prós burros. Anda um homem vendido dentro disto.
- Mas veste, homem de Deus. O frio não perdoa e arranjas alguma...
Enfiou a outra manga.
"Se caísse à cama, que seria deles?!... Em casa de pobre, quando não entra a jorna, entra a fome. Fiados pelas lojas é coisa que não dá conta a quem cuida de pagar. Conta
de rol é conta de dobro. E avezá-lo. Humildade a pedir, humildade a pagar. E fica sempre a obrigação. Na primeira semana a coisa ainda vai. Mas a doença não traz contrato
e nunca se sabe quando abala."
Olhou os filhos.
28
"Vê-los de porta em porta, de saco na mão, a pedir pelo amor de Deus. Como os do João da Iria e os do Anselmo. Nem cinco réis na arca para os primeiros dias. Algum feijão
e batatas. A salgadeira com um resto de enchidos. O dinheiro da casa do sobro já entregue ao Sr. Gouveia e tudo o que forrara lhe dera para a mão."
Sacudiu os ombros, puxando as bandas à frente.
-- Não me dá jeito esta coisa.
- Pareces um senhor, João!
Sorriu-se do gracejo. Afagou a cabeça da filha, a mirá-lo toda embevecida.
- Então, Francisco, isso não passa?... Ora tu!... Respondeu-lhe um aceno. E a cabeça afundou-se mais nos braços.
- Tem o burro preso, deixa-o lá. Um homem... - Encolheu os ombros para a companheira. Deitou a mão à enxada e arrastou-a até à porta. Os cachimbos queixaram-se. A noite trouxe-lhe
um afago frio.
- Eu já lá deito também.
- Para quê?!...
- Dar-te ajuda.
- Ora! Fazer?!...
A marra conheceu-o e grunhiu, afocinhando na porta do chiqueiro. Sossego no redil. Os seus pés restolharam na cama fofa do mato do alpendre. O vento a grazinar nas telhas
de canudo.
Voltou-se e acenou-lhes com o braço. Puxou à testa a carapinha do barrete e aperreou mais o cabo da enxada.
As duas a segui-lo de olhar, mão com mão.
Os seus passos ficaram a prolongar-se entre o rumorejar da figueira e o siflar do telheiro. Na moldura da porta a claridade apagou-se.
29
Embalos
Luzes nos casais. Sombras pelos carreiros. Pensamentos
consigo. Começara a construir a sua ambição. Sonhara-a depois que voltara da militança e conhecera a Ludovina. Numa noite de Santo António, com fogueiras acesas pelo lugar.
Uma gaita-de-beiços a convidar ao rodopio e o vinho do Zé Milho a emprestar diabruras. Pegaram-se de olhares. Catrapiscaram, Uma moda levou-os à fala. Era de S. João dos Montes.
E aquele sonho nascera com o florir de uma alcachofra. E foi crescendo dia a dia. Mas ninguém vendia courela por ali. De renda, era trabalhar a vida inteira e nunca achar
de seu.
Os anos passaram. Os filhos nasceram e deram de espigar. A Rita com doze, o Francisco com dez. Enxutos os dois, benza-os Deus. E aquele sonho mais constante a agarrar-se,
a prendê-lo... Noites em claro a aparafusar. Invadido de amarguras, se olhava melhor a vida. Servo de todos e de ninguém. Os lugares de caseiro bem tomados. Nenhum largava.
A companheira via-o abatido e queria a sua parte nos pesares.
30
- Ora, mulher. Não é nada! A gente põe-se a magicar...
Quem diria? Estava a vê-lo. Pedaço de homem que nem um freixo. Polainas, calção, casaco verde-azeitona, chapéu desabado. Uns olhos grandes que nem luas cheias. Bigode farto
como um matagal. E a sua mão fina, que nem parecia de tamanho corpo, a acariciá-lo sempre.
Vira-o mais de perto, ali mesmo. Na volta da azinhaga, garoto ainda, atirando a um ninho. Ouviu-lhe o assobio e procurou. Quando achou os seus olhos, deu-lhe ganas de abalar.
Cresceu-lhe uma indecisão, um fogo e ficou-se. Com uma tremura lá dentro... Ele veio no seu passo ronceiro e passou. Espingarda aperreada no braço e apoiada na mão. O assobio
a desafiar os pássaros.
- Então, também caçador?!
Pusera a vista no chão, sem saber encontrar desculpas. O D. Martinho!...
- De quem és filho?
Mirrara-se mais. Aquela voz áspera a chicoteá-lo. Sentia os olhos do fidalgo a fixarem os pés sujos, a subirem aos calções e a desfiarem o rasgão da camisa. Ergueu o braço
e tapou-o.
- Parece que te dei medo, rapaz?!
Acenou-lhe a cabeça. Vontade de lhe dizer "não senhor" e de levantar a vista. Perguntar-lhe se tudo o que por ali se dizia era verdade. E era tanta coisa!... Nem saberia por
onde começar.
Uma perdiz passou a rufiar, cruzando a azinhaga. Um tiro. Sentiu um estremecimento. Passos rápidos, logo quedos.
- Ó rapaz!... Aproximou-se.
- Logo me deu para não trazer cão. Vê lá se encontras por aí uma perdiz. Dei-lhe de asa...
31
Saltitou de torrão em torrão, rebuscando. Os olhos inquietos a desejarem enxergá-la.
Do alto do cômoro, ele apontava-lhe o rasto. Donde estava, parecia que tocava as nuvens e enchia todo o horizonte. Grande que nem um pinheiro, o D. Martinho. Deus devia ser
daquele tamanho, pensara. Mesmo por ali, quando se falava dos dois, era com o mesmo respeito. Mão no barrete e olhos no chão. Deus e D. Martinho senhores de tudo - do Céu
e da Terra. Só das perdizes, não. Que ela se safara e nunca mais lhe puseram vista. Das perdizes e narcejas era dono o Zé Gaitas. Espingarda real. Dava uma volta e molhada
à banda.
O fidalgo abalou no mesmo passo não-te-rales. Ficou-se a vê-lo seguir azinhaga acima, mas sentiu-o apequenar-se e ficar do tamanho dos outros homens. Pontaria cega. Tudo falava
do D. Martinho e afinal uma perdiz escarnicara dele.
Aquela ideia a moê-lo toda a tarde. Começou a descrer do que ouvia contar. Em tudo de que se falava, o D. Martinho aparecia.
- Ah, mas o fidalgo...
Homem de trinta nomes. Uns chamavam-lhe D. Martinho, outros fidalgo, outros Sr. Conde e até Vossa Excelência. Ele então era João Diogo ou só João. Alcunhas, com certeza. Uma
coisa que ele não gostava. Até se pegara de lambada com o Joaquim da Torta por lhe ter chamado Molezas. Pancadaria por uma pá velha. Se o Mata-Bicho não tem aparecido, ainda
lá estariam.
Recordações que lhe traziam sorrisos. A enxada era como mão pousada no seu ombro, em jeito amigo. A mão dos filhos a dar-lhe afagos. Corpo mais leve, já longe do
32
despique. Nem o Francisco Queimado nem o Pataca vinham com ele.
Só com o passado. Passado que dava agora esperanças no futuro - quase certezas.
Um cão ladrou-lhe. Um voo de pássaro rasou a copa de um tanchão. Pareceu-lhe que o frio amainara e sentiu-se mal no casaco. Quando chegasse estendia-o na moita e toca à empreitada.
A enxada punha-lhe no ombro um contacto de ânimo.
Se algum falava em mulheres, logo ele vinha à baila.
O D. Martinho...
Por aqueles salões da cidade nenhum homem mais requestado. E dizia-se de duelos à espada, na mata de Benfica, onde, só numa noite, e à vez, se batera com quatro.
- E de forma inteira, aquele fidalgo! Coisa que não lhe grude...
E à boca pequena se dizia, com modos misteriosos - não fossem as paredes ouvir -, que, no Paço, até a rainha...
As mulheres benziam-se. Os homens olhavam-se e acenavam a cabeça com a sua ponta de orgulho. Era como se fosse dali, o D. Martinho. Setembro e Outubro não falhava. Vinha dar
volta às terras e fazer a sua caçada. E era pessoa que não se lhe dava de conversar com um qualquer. Com um pobre das portas até.
Mas da rainha a coisa fora falada. Que o rei se apaixonara tanto, que de dia e de noite as lágrimas não paravam. E que pedira ao D. Martinho...
E o fidalgo, sempre homem de bem, abalara de Lisboa e viera recolher-se à quinta. Mulheres tinha ele às carradas! Mas ela estava perdida...
33
Numa noite de Inverno, que nem para o fim do mundo, alumiada por relâmpagos mais fortes que o Sol, ela viera procurá-lo. Nem malteses havia pelas estradas. O céu abrira-se
em água.
Dentro de uma caleça e disfarçada de frade, encharcada até aos ossos, que a chuva tudo rompia, ela deitara ali. E pedira-lhe de joelhos que voltasse. Mas o fidalgo era homem
de uma só palavra. Disse-lhe que sim, para a aquietar, acompanhou-a no seu cavalo picarço até Alverca, e só foi a Lisboa quando o rei o mandou chamar para o fazer marquês.
Não aceitou. Que ele com aquele modo era mais que rei. Moveu-se o Céu e o Inferno, e nunca quis.
À rainha é que a coisa não passara. Deu de o não largar com cartas e recados. E ele que nem um seixo da serra de Trancoso.
Então aquela maldita... Nesta passagem todos sentiam um arrepio no corpo. Esbugalbavam-se os olhos e os peitos paravam.
... tratou de arranjar quem desse conta dele. Fizeram-lhe uma espera... Alguns dez! De varapaus e punhais que nem para fazer frente a um batalhão. E ele sozinho!...
Foi coisa falada. Desembaraçou-se daquilo num virote. Mas na outra semana partiu para a estranja e por lá ficou alguns dois anos.
Disse que era mentira quando ali lhe falaram nisso. E por um pouco não desancava o João da Maximiana, quando se deitou a teimar. Mas aquilo...
Ele naquela tarde é que duvidou de tudo. Uma perdiz passar grade a um homem com trinta nomes...
Estivesse lá o Zé Gaitas...
D. Martinho para tudo, e afinal!... Mais valia ser João Diogo. De funda na unha ainda queria meças. Com uma
34
espingarda que custara alguns dez mil réis... e olho para dentro.
O Sr. Silva é que passou a vir dar a sua volta. Receber os foros, ver os trabalhos, dar ordens. Governou-se bem. Fez casa e deitou o filho a doutor. Suava sempre. Os homens
na cava, ele a espreitá-los por cima das lunetas, e a testa ensuada, a pingar que nem parede húmida.
Quando abalava, os servos riam: "Aquele desalmado desfaz-se... A gente é que alanca e ele é que se cansa."
Em modos de segredo, o Sr. Silva dera a nova ao caseiro: "que o Sr. Conde se casara em França com uma mulher..." E estalara a língua, a confirmar a escolha.
O D. Martinho lá nisso!...
- É homem muito fino! Que eu, ó Seu Pedro, não é por me gabar, que não sou dessas vaidades, mas disso percebo. Se percebo!...
O caseiro contou ao compadre António Maria. E a nova deu volta.
"0 fidalgo tinha a mulher mais bonita da França. Um casamento de estadão. Coisa falada em todo o mundo. Terrinas e pratos tudo de oiro."
Por causa disso, por pouco não se armara farta cacetada.
O T'Arrenego desatou a rir e pôs-se de galhofa.
- Então e o pão também era d'oiro? Quando deram de corpo, saíram cordões e anéis que foi um dia de juízo.
E fechou com uma gargalhada das suas, das que acordam mundo sete léguas em redor.
Uns encolheram os ombros e não tugiram mais. Que o T'Arrenego era pedreiro-livre e por isso ninguém lhe dava trabalho. Mas o compadre António Maria é que foi as do cabo. O
outro a encarniçar-se com a força das gargalhadas e ele cada vez mais branco. Branco que nem
35
uma aveja. Quis falar e as palavras enrolavam-se nos beiços, a tremer. Levantou-se e sentou-se algumas três vezes. Parecia de molas.
Saltou para o meio da casa, em mangas de camisa, rapou de um marmeleiro que estava arrimado ao balcão, e toca de ensarilhar.
Foi o trinta diabos!
O T'Arrenego não era homem que se ficasse ao mais pintado. E se os outros não tratam de apartar, aquilo dava sangue e enxovia.
Então toda a gente soubera.
As mulheres badalaram nos poços e na volta da azeitona. Os homens nas tabernas e nos lagares.
Conversa de muitos dias. Cada qual a juntar-lhe a sua. Quem conta um conto, acrescenta-lhe um ponto. E já
se dizia a cor do vestido da noiva-branco, todo em
pedras, quem nem um manto de rainha; quantos cavalos tinham puxado ao carro feito de encomenda para aquele dia; os bois que se abateram para servir os não sei quantos centos
de convidados.
- Eh, João Diogo!
Parou a olhar à volta. A desfiar recordações fechara-se ao que o envolvia. Mortas as luzes nos casais e sem ecos o bramir do vento.
- Vais cego, homem?!...
A voz norteou-o. Aproximou-se.
- Olha o Ti Ceroulas! Se vossemecê não fala...
- Eras como cão por vinha vindimada. Então a esta hora...
- Vou-me até à fazenda. Sem a enxada do dono as coisas não medram, Ti Ceroulas.
36
--Olha que de noite todos os gatos são pardos, homem. E Deus, Nosso Senhor, põe o Sol prà gente procurar os lençóis. Isto não se pode andar d'empreitada.
- Se eu tivesse o seu arranjinho...
- Lá deixavas de trabalhar.
- Tinha outra vida...
- São mais as vozes que as nozes, João Diogo! Silêncio entre os dois.
- Vai-te lá, homem. E que os bicos da enxada te levem boa colheita à terra.
- Obrigado, Ti Ceroulas. Meteu azinhaga abaixo.
- Ouve lá, tu não queres um copo?!... Voltou-se.
- Ná, obrigado! Já cá levo a conta.
- Olha que é de vontade. E é uma pinga...
- Na, não vai. A caminho.
Estrelas aos bandos. O luar a pintar contornos e a definir sombras.
Um grilo a desafiar a noite. Cheiro de terra revolvida a cavalgar o vento.
Ele e o passado - companheiros de jornada.
O Sr. Silva chegou e deu ordem para fazer um mimo do jardim. Vieram trolhas e ergueram canteiros. Ao centro abriram um lago com pedras em castelo e oolooaram-lhe no coruto
um menino nu, todo de pedra, de sombrinha aberta na mão. Um menino inteiro, a modos envergonhado de o verem naquele preparo.
Ao fundo, um caramanchão em arco, todo às campainhas lilases e rosas desmaiadas. O brasão do Sr. Conde
37
levou piaçaba e ficou como novo. Tinha dois leões e umas faixas às ondas. A frente do palacete levou tinta nova. Por cima da cor de grão deram-lhe um azul que parecia um bocado
de céu caído ali na encosta.
Matraqueio de martelos lá dentro, mais de um mês. E soube-se que lhe tinham mexido de ponta a ponta, deixando tudo novo. Havia uma casa só para fumar. Outra com uma mesa grande,
cavada, coberta de verde, e com três bolas que se empurravam com um pau, a modos cacete. E uma casa para tomar banho.
- Nunca se viu, Santo Deus. São coisas do diabo. Uma casa de lavagens...
- Até parece pecado, credo! Se não fosse ordem do D. Martinho...
O Sr. Silva vinha todos os dias e não parava de ordenar. Trazia na mão uma carta do fidalgo, que lia de minuto a minuto. Suava mais que nunca. Ajeitava as lunetas e sorria.
- Fica um mimo.
E enfeixava as pontas dos dedos na boca. Esfregava as mãos, como se tivesse frio, e andava numa roda viva do jardim para os pavimentos, dos pavimentos para o terraço.
- Tudo bem acabado. Não se olha a dinheiro. O D. Martinho nessas coisas...
Mostrava a carta por tudo e por nada. E lia-a de ponta a ponta, gritando certas passagens.
"Confio na sua capacidade. O meu amigo tratará de tudo como se para si fosse... E não esqueça a casa de banho. É uma dependência que diz mais da nossa civilização do que a
obra de Descartes. Mármores e espelhos..."
E apontava com o indicador anafado e trémulo.
- Mais do que a obra de Descartes.
38
O mestre-de-obras, abelhudo em tudo, indagou logo quem era aquele homem de quem o fidalgo falava. O Sr. Silva avermelhou-se e encolheu os ombros repetidamente.
- Ora você!... Ora você, Seu Jacinto!... E passava o lenço pela testa ensuada.
- Ora, ora!... Descartes... E acenava as mãos.
- Um tipo que era todo contra as casas de banho. Um homem sem civilização.
O Sr. Jacinto achou que sim. E abalaram ambos a dar volta. Tudo estava pronto. No lago já passeavam uns peixes vermelhos com manchas doiradas. Nas ruas do jardim, areia encarnada
a envolver os canteiros. O caramanchão todo pintado de verde e carregadinho de botões.
O Sr. Silva juntou ali todo o pessoal e falou-lhe em meias palavras. Mandou vir vinho da adega e distribuiu-o pelos homens.
- Estou satisfeito!... Estou satisfeito!... Sinceramente !
O mestre-de-obras, que tinha fumaças de bem falante, pediu silêncio e, de copo na mão estendida, disse que ia falar. O Sr. Silva baixou a cabeça e tomou um ar pensativo.
- Eu, felizmente, não sou como o Descartes.
Todos olharam o barrão que dera serventia na obra e, numa hora de almoço, afirmara que tudo estava bem, menos a casa de banho. Desde aquele dia o barrão passou a chamar-se
Descartes. E ele não gostava da graça.
- Disse e repito: não sou como o Descartes. O Sr. Silva foi a alma disto tudo. Tenho trabalhado em muita obra e nunca me encontrei com um homem tão...
E estremeceu o copo a procurar seguimento.
- Um homem tão... tão fino, tão esperto...
39
Os trolhas e carpinteiros acenavam a cabeça. O Sr. Silva chorou. Fez sinal ao caseiro para que trouxessem mais vinho da pipa e correu a face com o lenço. E todos brindaram
por ele.
- Obrigado!... Obrigado!...
Quis então fazer uma surpresa. Pediu para que se juntassem à volta do lago e desapareceu na porta da casa do jardineiro.
Os olhos seguiam a viagem dos peixes, muito lentos, a abrir o leque das barbatanas. Subiam depois ao menino inteiro e miravam-lhe o sexo e a sombrinha larga. Tudo de pedra.
O menino com um tom rosado, a sombrinha branca com veios azuis.
"Coisas do Sr. Silva. Homem de miolo."
Os que estavam mais chegados recuaram. A modos um susto. Depois largaram a rir. Coisa de pasmar todos os santos dos reinos do Céu. A sombrinha deitava água pelas pontas das
varetas e lançava um repuxo pela ponteira.
Ouviu-se o abrir de uma janela. E o Sr. Silva apareceu a sorrir, deslumbrado de si.
O mestre-de-obras bateu palmas. Fizeram coro os outros. O caseiro deitou dois morteiros. E a nova correu breve.
Ao portão da quinta, por uns poucos de dias, os curiosos empurraram-se para ver o menino da sombrinha.
- Coisas do diabo!
Deu uma volta à horta, a deitar olho aos feijoeiros que estavam a amarelecer. Folhas mirradas a caírem já, vagens encorreadas e mal crescidas. O Ti Ceroulas tivera a mesma
semente e tinha lá um pedaço que valia oiro.
40
Verde e soberbo que era um regalo. A terra era boa. Bem estercada e com tempero. Água não faltava, que o dissessem as couves fartas e viçosas ali à banda. Cada uma! E as nabiças
tenrinhas prometiam bem. Só aqueles diabos, velhos antes de feitos.
Pôs a enxada à banda e despiu o casaco. Fadigas já mortas. Forças novas a entumecê-lo.
Era o trinta diabos, aquela dos feijoeiros. Estava capaz de acreditar no mau-olhado. A mulher dissera-lho e ele rira-se. Mas agora...
Talvez mais uma pinga de água os animasse. Pegou no balde e deixou a corda correr-lhe nas mãos. A Lua mirava-se no fundo do poço.
Quando já tinha corpo para puxar pela enxada, ganhara no D. Martinho a primeira jorna. Derreado, sem ganas, voltou a casa noite dentro. Nem pegou na ceia. Deitou-se sem poder
levantar cabeça. Ferrara no sono de raiz e, se o não acordassem de madrugada, para se meter a caminho, bem podia o Sol dizer que era dia.
Os rins doridos que nem cinta de ferro a aperreá-los. Braços a abandonarem-se ao peso das mãos. Moinha na cabeça, como se mosquitos lhe zunissem dentro.
Abalaram os dois, ainda noite. O pai a fumar. Cresceu-lhe um apetite. Parecia-lhe que se acendesse um cigarro teria mais alma. Mas com o pai à ilharga... Ainda nem tivera
ordem de fazer a barba, quanto mais...
Pôs-se a assobiar para entreter cansaços.
As visitas do fidalgo iam rareando. Com a família só deitava em Agosto. Arejavam-se as casas, vinham as criadas para a limpeza - um batalhão - e por uma tarde aparecia o carro
das malas. A senhora vinha com os meninos no outro dia.
41
Os que a viam, afirmavam que tinha um olhar vago e doloroso, um modo de quem vive com penas. Parecia cantar quando falava. Agora começavam a compreender o que dizia. Assim,
a modos arrevezado, mas bem diferente de quando viera. Então, ninguém entendia uma, por muito que pairasse e por gestos bastos que fizesse.
Passava as tardes ao piano. Músicas tristes. No trabalho os homens enfadavam-se de as ouvir. Falavam-lho da vida.
Vinha depois para a janela de sacada e esquecia-se a olhar o rio, cá em baixo, a envolver os mouchões e a agigantar-se no Mar da Palha.
Vestidos escuros quase sempre. Os seus cabelos loiros a fazer contraste. O D. Martinho falava-lhe como a uma criança doente, todo afagos e vontades. Era outro agora. Parecia
que os anos lhe pesavam a dobrar. O corpanzil começara a abater-se e já não tinha aquele andar firme que todos lhe conheciam.
Os meninos à vontade pela quinta, na companhia das criadas, amimados que nem príncipes. O D. Rui era claro como a senhora. Olhos azuis, rosto de cera, boca pequena sem cor.
O D. Vasco deitava mais ao pai. Moreno, entroncado, cabelos pretos. Ninguém diria que entre os dois ficavam três anos.
Raro era andarem juntos. Por tudo e por nada se pegavam. O D. Vasco fazia justiça por suas mãos. O outro choramingava e queixava-se à senhora. Sempre desconfiados, como dois
inimigos. Cão e gato por uma pena.
Com a idade, o ódio refreou-se. Mas havia entre eles um silêncio frio que tatuava as palavras que trocavam por cortesia. A tristeza da senhora era maior em cada ano. Só as
músicas diziam que vivia. Para lá das gargalhadas do D. Martinho todos sentiam que um desgosto o minava. Dava volta aos trabalhos, saía com a caçadeira a fazer
42
o seu tiro, "o gosto ao dedo", como dizia, mas era outro homem.
- Não é feliz, o fidalgo.
E muitos se lembravam do que tinha corrido da rainha.
- Mau-olhado! E mau-olhado de coroa...
Até que um dia a nova chegou. A senhora sofria do peito e mirrava a cada hora. Estava transparente que nem um vidro e tossia muito. Não beijava os meninos e tinha a loiça
apartada. Os médicos eram de opinião que saísse.
O Sr. Silva voltou a ser absoluto. As notícias vinham por ele.
- Lá se foi, coitadinha. Uma desgraça!... Uma desgraça!...
E passava o lenço pelos olhos depois de limpar a testa.
- Uma santa senhora!
Todos lhe sentiram a morte, mais pelo desgosto do D. Martinho do que por pena. Mal se via. Raro dava uma palavra. Até as mulheres a lamentavam. Elas que não levavam à paciência
aquele casamento.
- Estrangeiras, mulher!...
E torciam o nariz.
- É gente doutra forma. Gente que não se percebe... Hum!...
Passou a mão pela rama dos feijoeiros e folhas caíram. Levantou o barrete e coçou a cabeça.
- O diabo! Isto é o diabo!... Com uma semente destas...
Foi ao poço, tirou outro balde e trouxe-o com a corda a arrastar, como uma serpente que o seguisse. Deitou-lhe
43
a outra mão ao arco do fundo, deu-lhe balanço e a água chapinhou nas canas e na folhagem.
O vento amainara. As árvores deixaram de bramar entre si. Tudo em recolhimento. Luzes a rarearem nos montes.
Pegou na enxada e pô-la às costas. - Um bocado ainda...
Cuspiu nas mãos e deitou-se ao trabalho. Tinha ao lado dele o Peralta e o Francisco Queimado.
Agora se veria quem era o melhor cavador.
Viera para ali acabar os dias. Sombra de homem. Alma penada. A cabeça branca como em poeira de farinha. As mãos a tremelicar como pontas de vime. Passava sem uma palavra,
nem um gesto.
Alta noite, sempre havia luz naquela janela. A Jesuína contava que lhe ouvia os passos até adormecer e o sussurro das conversas. Conversas consigo.
- Está pataroco, o D. Martinho. Desgostos! Elas não matam...
Chegara tudo junto. A morte da senhora, o afastamento dos meninos e agora aquele bramar contra os fidalgos.
Quem andava contente era o T'Arrenego e outros da sua laia. Tinham perdido o respeito a toda a gente. Diziam que o rei era um malandro e a gente de brasão uma data de langões.
Coisas sem tempero. Andavam muito por Alhandra e aquilo era terra que não andava na graça do Altíssimo.
O Sr. Silva é que explicava tudo. Mas muitos já não o ouviam.
44
- Querem fazer o mesmo que em tempos na França. Mataram o rei e a rainha, e o sangue correu pelas ruas, como num matadoiro. Como se o povo pudesse alguma vez mandar, ó António!
O outro meneava a cabeça e encolhia os ombros.
- Então, ouve lá! Tu eras capaz de governar?...
- Se me dessem umas letras, não digo que não. Olhe que passar como a gente passa não é coisa fácil e a gente auguenta.
- Isso foi sempre assim. Deus quando fez o mundo pôs cá os pobres e os ricos. Para alguma coisa o fez!...
- Não foi lá muito bem feito, ande lá.
-- Isso não se discute, homem. Então tu achas que o mundo não é coisa de espantar?... As flores... os passarinhos... os rios... A terra dá pão...
- Mas não é pão igual, Seu Silva. Olhe que o meu é duro que nem um chavelho.
- Algum pecado tens,
- Só se for de trabalhar que nem um bruto " comer que nem um pisco."
O Sr. Silva suava, fazia-se branco e voltava as costas. Cada vez havia mais T'Arrenegos.
Aquilo moía o fidalgo pela certa. Se até os homens da jorna começavam a perder o respeito...
Já casara e tinha os dois miúdos. Fora fazer um biscate à quinta e ouvira o D. Martinho falar no desaforo.
-'Que querem eles mais?!... Ganham quanto lhes apraz, roubam o povo como nunca se roubou e ainda atiçam a matilha à gente. Isto já não é um reino dos que foram à índia e tiveram
avós em Aljubarrota. É um reino de merceeiros e de fabricantes de riscado. E falam dos nossos brasões... Quando a gente os comprava, nem tugiam. Demos-lhes lugar no mundo,
tratámo-los como homens... Era de ver isto. Se tivéssemos tomado conta do
45
comércio... Mas parecia mal um fidalgo tratar dessas coisas.
As mãos tremelicavam-lhe mais.
- Agora é isto. Deixaram-nos entrar nas Cortes e ouvem-lhes todos os desafios, sem haver um só que os desanque. Ah meus tempos!... Chamam-lhes deputados da peste e não os
sabem isolar.
A sua voz tinha queixas.
E pelas noites adiante aquela luz não se apagava. Conversa com fantasmas. Ele mesmo uma sombra.
Caiu à cama e não se levantou mais. A Jesuína dizia que o Sr. Conde se'apagava como uma lamparina sem azeite. Falava dos filhos e dos republicanos, baralhando insultos com
lamentos. Iras bruscas sacudiam-lhe o corpo abatido e sentava-se num impulso, olhos esgazeados e mãos a esgrimir gestos. Depois aquietava-se e ficava de peito a arfar, ciciando
palavras que ninguém entendia.
O Sr. Silva chegava todos os dias, em bicos dos pés, a saber das melhoras. Encolhia os ombros num desalento e suspirava. Mas as criadas diziam que ele era como a morte que
viesse espreitar os restos de vida do D. Martinho.
- Está aí o milhafre. Homem falso!
Cada dia a pior. E os meninos não vinham. O Sr. Silva tentava desculpá-los, falando dos estudos e doutros afazeres. Que já escrevera duas vezes e não obtivera resposta. Era
até possível que não recebessem as cartas.
- O serviço dos correios é péssimo. Uma falta de organização... Não tivesse eu que olhar por isto tudo e iria buscá-los. Pagava até a passagem do meu bolso, só por saber o
gosto do Sr. Conde em tê-los aqui nestas últimas horas.
E enxugava uma lágrima esquiva.
46
- Isto custa muito. É o fim mais certo de quem vem a este mundo. Mas habituamo-nos às pessoas e quando chega o momento de abalar para a outra vida... Homens como o D. Martinho
deviam ficar cá para sempre.
- Deus que o chama...
- É que entende que lá precisa dele. Também é verdade. Mas custa muito!
E afastava-se em passos lentos, passando o lenço pela testa e pelos olhos.
Numa tarde os meninos chegaram. Dois homens já. O D. Vasco, direito que nem um freixo, bigodes negros retorcidos, tal qual o retrato do pai no quadro da sala. O D. Rui parecia
esbatido por distância. Tinha um olhar vago, sem luz. Bigode loiro descaído aos cantos da boca fina e empregueada. Mãos de freira.
- Então?!...
A Jesuína respondeu-lhes num -ai.
- Receberam as cartas do Sr. Silva?
--Não!... Foi o primo Sebastião quem escreveu.
Havia três dias que o D. Martinho não abria os olhos nem dava palavra. Rosto sereno como num sono de criança. Corpo sem convulsões. Só nas órbitas se vincava mais um círculo
roxo. Peito sem tosses. Uma farfalheira na respiração.
As janelas do quarto estavam cerradas. A luz da lamparina, que alumiava um crucifixo de marfim, dançou quando a porta se abriu. Um cheiro de febre. A mancha branca da colcha.
Ajoelharam-se, cada um do seu lado, e tomaram-lhe as mãos. Um tremor sacudiu-os. Os olhos do doente buscaram na escuridão. Um fio de voz.
--São vocês?... Julguei que não viessem...
A Jesuína abriu as portas de dentro. A claridade débil da tarde entrou de mansinho. Fez sinal para se erguerem.
47
Puseram-lhe os almofadões e recostou-se, meio sentado. Libertou as mãos e passou-as pela cabeça dos dois. No seu olhar apagado reflectiram-se saudades.
- Rui!... Ainda sabes a música que a mãe te ensinou?...
Quis trauteá-la.
- Lembras-te?...
A mesma tristeza dos outros tempos. Como se o piano tivesse decorado o contacto daquelas mãos e repetisse a melodia. Cerrou os olhos e sorriu - um sorriso amargo.
O piano calou-se. Na casa, os sons ficaram a desdobrar-se.
- Tocaste tão bem... Às vezes passava-lhe os dedos e parecia-me que a saberia toda. Tinha-a cá dentro. Nunca a esqueças...
Esteve com os dois noite fora. Falou-lhes das quintas e dos rendimentos. Que viessem para ali e guardariam para o resto da vida. Olhassem pelas coisas com carinho e fossem
amigos. Os tempos eram outros, e nada esperassem da coroa. A mãe não os quisera militares e não achariam comissão em África. Estava-se nas campanhas do Barué e do Bailundo,
mas que honrarias e proventos podiam eles tirar?! Tomassem parte em qualquer comércio ou indústria. Era o que dava. Nunca o fizera, porque a sua vida estava ligada ao Paço
e seria dar conversa aos outros. Mas eles tinham vivido afastados e poderiam iniciar outro rumo à família. O D. Rui, que herdava o título, ficaria, se quisessem, no anonimato.
Princípios que se tinham de respeitar. Mas o D. Vasco daria o nome, um nome simples de burguês. Que não usasse nessas coisas o maior - o que fora à índia e estivera em Aljubarrota.
Pergaminhos que não queria manchados.
O Sr. Silva veio pela manhã e ficou varado, quando soube que os meninos tinham vindo. Excitou-se; ralhou
48
com o caseiro. Subiu as escadas em bicos de pés, com uma expressão dolorosa.
- Receberam a minha correspondência?
- Não.
- Escrevi duas vezes. Uma lástima de correios. Ficarão a pensar que não me interessei.
Silêncio entre os três.
- O Sr. Conde?!
- Mal...
A Jesuína passou apressada, a suspirar. Chegava até ali o coro das mulheres na azeitona. Espreitou pela janela e viu o caseiro. Bateu nos vidros e o outro olhou.
- Desejam que mande calar aquela gente?...
- Como entender...
Debruçou-se e deu a ordem. O caseiro abalou a passo largo.
- Falta de respeito! Em França não é assim, com certeza, apesar da república. O papá é que diz bem: isto é um reino de merceeiros e de fabricantes de riscado. Até ao campo
o descaramento já chega.
Deixaram-no só. Ficou a pensar insultos.
Quando o médico saiu, acompanhou-o até ao carro. "Não havia esperanças. Coração muito fraco. Pulso a parar. Mais duas horas, quando muito."
Antes de anoitecer a notícia correu. Ao portão da quinta, homens e mulheres a olhar as janelas cerradas. No meio do jardim, o lago com o menino de sombrinha não deitava água.
Diálogos de recordações. Choros silenciosos.
Toda a noite chegaram carros. Senhores graves de fatos negros. Chapéus altos reluzentes. Vestidos recatados das damas. Cumprimentavam-se e seguiam jardim fora, a cochichar.
Algumas caras conhecidas. O D. Sebastião que vinha caçar às rolas e o D. António que dormia na
49
quinta, nas vésperas de toirada em Vila Franca. Um folião, o D. António! Sorriso brejeiro, ar de galhofa. Pegava numa guitarra como poucos e cantava como ninguém. Sempre de
jaqueta e chapéu de aba rija. E a picar toiros safava-se como os melhores. Ia-lhes à cara por má pinta que tivessem. Defeito de femeeiro. Atrevido para as moças enxergava
no caminho. Com dois copos era homem perdido. Deitava-se a uma mulher ou pegava-se de razões sem dar palavra. Fora disso, um paz de alma.
Mas hoje viera contristado, grave, como os outros senhores. Distinguiu-se deles, porque levara a mão ao chapéu, quando atravessou por entre os grupos que se comprimiam no
portão.
Nem um rei levara enterro tamanho. Por onde a urna passou, eram fileiras e fileiras. Mulheres ajoelhadas na lama, homens de cabeça descoberta e pendida.
Flores e coroas. Uma fila de carros que não tinha fim.
Ali cavara de jorna muita vez. Agora trabalhava para si. Revivia energias nas fadigas e a enxada pesava menos. Braços no mesmo vaivém.
Daí por meses uma seara toda loira de espigas bem feitas. Uns poucos de sacos para moer. Arca cheia.
Ergueu o corpo e levou a mão ao quadril. Boca seca. Imagens confusas nos olhos. O cantar de uma cigarra a acompanhá-lo.
Não havia que cuidar de cansaços. O repouso viria depois, quando tudo estivesse semeado, entregue ao tempo. Os filhos lhe agradeceriam o apego ao trabalho. Pagaria tudo ao
Sr. Gouveia e talvez metesse um bocado de vinha.
Cuspa nas mãos e enxada ao alto. Não precisava de
Galinha de campo...
Andavam por ali a estafar o tempo sem gosto. Volta na vira em Lisboa, por semanas e semanas. Afastados um do outro, como dois estranhos.
Por uma tarde, o D. Vasco veio com alguns amigos e mulheres. As luzes acenderam-se. Tocou-se piano. Não eram aquelas músicas dolentes da senhora e que o D. Rui decorara. Mazurcas
e polcas de entontecer.
Pelas janelas viam-se passar os pares agarrados. Risos a quebrar a mudez dos campos.
Para todos, aquela festa fora uma afronta. Iam sete meses da morte do D. Martinho e um regabofe tamanho na casa onde fechara os olhos...
O Tóino da Mata despediu-se e então soube-se melhor como aquilo se passara.
As mulheres eram cómicas que o menino trouxera com os amigos. Começaram de beber e de dançar. Fumaram todos. Aí pelas dez horas, já ninguém se tinha nas pernas. Vomitaram
pelos cantos das salas, serviram-se das camas, como de hospedaria. E nem respeitaram o quarto do Sr. Conde. Tudo lhes serviu.
Um desaforo!
Um deles, embrulhado numa capa, veio buscar o Tóino da Mata. Que o D. Vasco o chamara para falar de coisas da quinta. O homem apressou-se a galgar a escada, todo presto.
- Está na casa de jantar.
Dali chegavam gritos de mulheres e gargalhadas. Bateu receoso, não fosse aborrecer o menino com a sua presença. O outro instou para que entrasse. E, mal abriu a porta, empurrou-o
para dentro.
51
Uma perdição!...
Sempre que se lembravam disto, as mulheres dali benziam-se quatro vezes. Cruzes, canhoto!...
O D. Vasco, sentado na mesa com uma das cómicas nos braços, atirava vinho dos copos para a cara dos que estavam à volta. As paredes marcadas de traços roxos dos salpicos.
E até um retrato dum tio-avô, que fora arcebispo, tinha uma mancha na face - na sua face de santo em recolhimento.
Mas a maior desvergonha é que o menino e a mulher que tinha nos braços estavam como Deus os pusera no mundo. E os outros de mãos dadas, todos em trajes de baixo, cantavam
coisas obscenas, interrompidas por gargalhadas e apupos.
O Tóino da Mata ficara aparvalhado no meio da casa, sem saber o caminho a tomar. Varado, sem um gesto nem palavra.
- Eh, malta, cá está o fauno!
Quando deram por ele, rodearam-no. E à sua volta recomeçaram a dança, dando-lhe encontrões e beliscando-se. Tentou sair dali, forçando o cerco. A Engrácia, se soubesse, não
gostaria da brincadeira, e ele mesmo não se sentia bem de volta com aquela gente, a quem tirava o barrete e tratava de excelência. Nunca se vira em festa assim. Vá, com seiscentos
diabos, que não lhe desagradava furtar o olho às mulheres, que mais pareciam estampas, tão ajeitadas eram. Mas se fosse pelo buraco dalguma fechadura...
Agora assim, cara a cara, nem lhe dava satisfação.
O D. Vasco ergueu-se e veio a cambalear até ao meio da mesa. A cómica choramingava com palavras que não percebeu, estendendo-lhe os braços.
- O Seu António é hoje promovido.
52
Dois correram para o seu lado, pegaram em garrafas e fizeram que tocavam.
--Eu, D. Vasco de inúmeros nomes, senhor destas redondezas, te nomeio par daquela divindade.
E apontava para uma das mulheres. Uma morena, de cabelos caídos e sinal no rosto, que lhe pegou no braço e lhe encostou o peito. O perfume perturbou-o.
- Ó menino...
Interrompeu ainda, a pedir clemência. Os outros riram.
- Beberás vinho até tombares. E à nossa frente terás a tua divina para aprendermos. Vai!...
Agarraram-no. Lutou. Pôs as mãos no cinto a defender-se da ordem.
- Ó menino, que coisa!... Que coisa!...
O D. Vasco não voltou à quinta. O novo caseiro soube que fora para França na companhia de uma das cómicas. O D. Rui desapareceu também. As janelas fecharam-se e os meses correram.
O Sr. Silva voltou a dar ordens e a lamentar-se.
- Dão cabo de tudo. Jogo e mulheres... Se o Sr. Conde abrisse os olhos... morria duas vezes. Uma vergonha !
O palácio de Lisboa tinha hipoteca. A Quinta de Colares já comprometida. O depósito do banco derretera-se.
- Nem dinheiro para os amanhos já temos. Cartas e mais cartas. Sr. Silva, mande... Sr. Silva, mande... Mas o quê?! Que mando eu?!... O D. Rui diz que quer ir passar a Primavera
ao Egipto. O D. Vasco que precisa de fazer uma nova viagem pela Europa. E o dinheiro?!...
Por uma tarde, o Sr. Silva veio acompanhado de outro senhor que fez apontamentos num livro de capa preta. Perguntou quantas pipas dava a vinha e os alqueires dos
53
cereais semeados. Se a quinta tinha muita água e quantas árvores de fruto.
Dois anos depois, aquele senhor voltava e fazia abrir as janelas. Deu ordem ao caseiro para fazer constar que se arrendavam ou vendiam uns bocados que ficavam fora de mão
e não serviam de recreio.
Era o Sr. Gouveia.
O patrão tinha uma fábrica no Dafundo e emprestara dinheiro aos meninos. Como não pagassem...
- Mas só precisa do palacete, do jardim e desta terra. O resto aluga-se ou vende-se. Veja isso!...
Ficara com a courela dos Bispos. Passara a patacos as casas que o sogro deixara e pagaria o resto nas colheitas. Juros de vinte.
Ainda que rebentasse ficaria com ela.
A jorna no João do Parcel saía bem do corpo. Não havia lugar para tréguas, que o caseiro era dos que não deixam amorrinhar o trabalho. Sempre a dar remoques nos seus passos
sofismados. Mas era ganho certo, e quando se anda em princípio de vida, não se dá ouvidos ao corpo. Fadigas não pagam rendas.
Enxada viva a rasgar a terra, galgando a distância. Até ao cômoro, e depois volta abaixo a recomeçar.
Cansaços no peito. Músculos mortos. Mãos em ardência.
Olhava à volta. Desânimos a penetrá-lo quando via a terra virgem até ao ribeiro.
Tudo aquilo!...
Descrença a entrar-lhe nos dedos e a correr-lhe nas veias. Vontade de largar a enxada e repousar a cabeça num daqueles torrões. Deixar esquecer-se de tudo...
54
O frio passava por ele e não o via. Camisa repassada de suor. Testa em águas.
E a enxada levava-lhe os braços com novos ímpetos. O Francisco Queimado e o Peralta lá atrás, a quererem vir a seu lado, em cava de empreitada. Mas ninguém lhe tomava a dianteira,
que ele comprara a courela dos Bispos, e, na colheita, o Sr. Gouveia viria cobrar o pagamento do ano e juros de vinte.
Passou a mão pela testa. Ardente como se trabalhasse ao sol. Uma dúvida tomou-o.
Febre?!...
Aquelas picadas, na nuca que lhe queriam cerrar os olhos; a indolência que lhe subia nos braços e alastrava nas costas e descia pelas pernas; aquela vontade de se sentar e
pender a cabeça...
Talvez dormisse.
Mas olhava o ribeiro e até lá a enxada não passara ainda. O Sr. Gouveia viria...
Mãos bem presas ao cabo e vá para diante. Fadigas não pagam rendas.
Sentiu restolhada na horta. Pareceu-lhe o vento. Mas as oliveiras tinham adormecido e não assobiavam.
A enxada não ouvia e continuava sempre. Entregou-se à faina sem pensamentos.
Os ruídos voltaram. Deixou os bicos enganchados na terra e buscou na noite. O luar alumiava-lhe o caminho.
- Que é lá!...
A sua voz repetiu-se. Passos a ecoar de companhia. Largou a enxada e meteu ao carreiro da horta. "Algum ladrão a fazer mão baixa nas couves."
- Eh, João!...
- Ah, és tu?... Não vou ainda.
Foi-lhe ao encontro. Olhos com olhos. Passou-lhe a mão pela cintura.
55
- Vens ganhar jorna? De enxada ao ombro...
- Quanto paga o patrão? - Dez réis.
-- Mais nada?!...
- Algum sopapo.
Riram. Ela poisou a enxada e apoiou-lhe as mãos nos antebraços.
--Estás cansado, João?
- Eu não, mulher. Isto não cansa. Vens regar a horta?!...
- Não. Dei-lhe de tarde.
- Então a enxada... - É para te ajudar.
- Estás douda, mulher? isto não é trabalho de saias.
- Deixa, João. Vais ver como sou capaz. Passo-te o pé. Apertou-a nos braços. O lenço afagou-lhe o queixo.
Queria contrariá-la, mas fazia-lhe bem a companhia. Era uma certeza. Os dois, lado a lado, sempre sem quebra, emprestando forças um ao outro.
Atirou a enxada para o ombro e seguiu com ele. Cuspo nas mãos. Ganas de revolver tudo. Uma força nova a aquecê-la.
Começaram de baixo para endireitar o trabalho. Braços ao alto no mesmo ritmo. Os ferros a penetrar a terra e a dar-lhes ajuda com os seus gritos reprimidos. O seu esforço
a dominar a noite.
-- Os cachopos?!...
- Ficaram deitados.
Voltados de novo à faina. Sem palavras. Olhos em carícias. Cansaços mortos na boca cerrada.
- Pára um bocado, mulher. Isto não vai a matar.
- Vai bem, deixa.
Ombro com ombro, sem uma trégua - caminho ao futuro. Esperanças nas cabeças descaídas.
56
Selo de dois mil e quinhentos
- Fora, Branquinha!
Pousou o cabaz do almoço num seixo grande e correu a rodeá-la. A tilintar o seu guizo doirado, a ovelha abalou encosta abaixo.
- Mal raios!...
Revolteou o cajado por cima da cabeça e atirou-lho. O animal parou, teve um estremecimento e pôs-se a tasquinhar a erva. Meteu a passo e juntou-a às outras.
- Vá, Branquinha.
Afagou-lhe a lã e coçou-lhe a carapinha da testa. A ovelha levantou a cabeça, procurando-lhe a mão com o focinho. Brincalhona e meiga, não tinha outra no rebanho. O pai dera-lha
quando o tirou da escola - já lá iam três meses. Pronto para o exame, ditado sem erros, que nem um alho para as contas, e não pudera ir. De toda a classe, só fora o filho
do Sr. Vicente e o do caseiro da Quinta Grande.
Vira-os abalar de livros e cadernos debaixo do braço, pimpões que nem doutores. Afinal ele e o Sogas sabiam bem mais. Mas o Sr. Professor falara com o pai e não houve meio.
57
Naquela noite a mãe chamou-o e deu-lhe a notícia.
- Vais sair da escola, Francisco.
- Já sabia, mãe. Estou pronto para o exame. E não trago raposa, vai ver. Deixe-me a estudar...
Havia qualquer coisa na sua cara -assim a modos uma nuvem.
- O teu pai esteve com o professor... E suspirou.
- É preciso pagar dois mil e quinhentos. Uma fortuna !
- Pra quê?...
- Sei lá. Diz que é de um selo.
Não quis jantar. Afogou os seus lamentos no travesseiro de lã. Toda a noite com aquela ideia a magoá-lo.
"O Sogas também não ia. E o Verde? Mais pobres que ele... Só o filho do Sr. Vicente e o Teotónio - o Mosca Morta. O professor falava, falava, e ele nem uma. Cara de paspalho.
Mas ia ao exame. De fato novo e risco no cabelo, botas pretas e boné de veludo."
O pai falou-lhe - acarinhou-o.
- Tu não vais pra doutor, Francisco. Sabes bem de contas, escreves uma carta... Já tens uma enxada.
Tinha de responder, mas não podia. Os soluços sufocavam-no, as lágrimas entonteciam-no. Vontade de lhe perguntar se, quando semeava, não queria colher as espigas. Era assim
uma coisa sem fim.
O inspector a perguntar:
- Qual foi o primeiro rei de Portugal?
E ele, de mãos atrás das costas, com resposta pronta.
- Vá ao quadro.
Conta de dividir. Em nove quantas vezes há dois? Quatro. Duas vezes quatro...
Depois ao mapa. E corrê-lo todo com o dedo, a dizer os rios e as serras, as lagoas e os cabos.
58
E só ia o Teotónio, o Mosca Morta, e o filho do Sr. Vicente.
- Deixa, homem. O pai não pode... Já sabes mais que eu. Quem não é rico...
Coisa bem feita, aquela. Estudar, aprender o que lhes dava na gana e depois...
- Um selo de dois mil e quinhentos.
Quando fosse à comunhão, havia de perguntar ao Sr. Prior se fora Deus que fizera os selos. E logo de dois mil e quinhentos.
Nem ele, nem o Sogas, nem o Verde...
Andou dias e dias com aquela ferrada. Como se lhe tivesse morrido alguém. Como se fosse ele que tivesse morrido. Morto por um selo de dois mil e quinhentos.
Depois afez-se à ideia. Triste ainda, a sair de manhã, com as ovelhas, e só de volta pelo jantar. A flauta ia e voltava, sem lhe pôr boca. Um dia experimentou-a outra vez.
Sentiu-se mais acompanhado.
O pai chamou-o.
- Queres ir para uma loja, Francisco?
Ficou sem encontrar resposta. Assim, sem mais nem mais...
- Ser caixeiro, homem. Isto de vida de campo é vida de servo. Já o D. Martinho o tinha dito aos meninos. Não tiveram juízo... O comércio é que dá alguma coisa.
Lembrava-se bem de ver os caixeiros quando voltava da escola. Dentro do balcão, a aviar, especados à frente das balanças. Ali não ia a chuva, nem o sol. Cabelo apartado como
o Mosca Morta, sorrisos para toda a gente. E tratavam-nos de senhores. Um dia ouvira.
- Sr. Manuel, uma quarta de açúcar. Desse mais clarinho...
Não dera importância àquilo, mas agora recordava-se.
Ficou assente. Quando a mãe fosse à vila, compraria papel para escrever ao compadre. Esqueceu o exame para magicar na sua vida. Nunca mais iria apascentar as ovelhas. Não
andaria pela horta a apanhar as couves e as nabiças. Não sacharia milho, nem tiraria água.
Costas direitas ao balcão, em frente das balanças. Sorrisos para quem entrasse.
- Sr. Francisco, uma quarta de açúcar. Desse mais clarinho...
Teria outra farpela. Botas pretas com atacadores compridos. Calça até abaixo, sem remendos.
Pegou na flauta e correu-a com os dedos. As ovelhas foram-se juntando, a traquinar campainhas. O guizo da Branquinha ouvia-se melhor que nenhum outro. Parecia uma música nova.
A flauta mais aguda de sons, com jeitos de imitar o vento. O rio lá em baixo, azul como o céu. Velas ao longe.
Da loja não veria o rio, nem as velas. A flauta calada para sempre.
A mãe trouxe o papel. Sobrescrito com forro azul. Fora buscar o tinteiro e a caneta. Na caixa das penas achou um aparo novo. Molhou-o com a língua e mergulhou-o na tinta.
Fez uns riscos ao lado. Tinta roxa. Prendeu o papel com a ponta dos dedos e ficou à espera que o pai notasse.
- Meu compadre...
M com duas voltas em baixo. Pôs a língua ao canto da boca para se apurar melhor.
- Já está.
Os olhos do pai no vago. A irmã encostada à cadeira.
-Que quando "arreceber" esta...
Recomeçou. Letra pendida à direita.
- Gaita!...
...... Que foi, homem?
60
- Escrevi "arreceber".
- Foi o que eu disse. -- Mas não é...
Procurou a borracha na caixa. Não a encontrou. A irmã afirmou que não lhe mexera. A mãe não sabia disso.
- Vai assim.
Passou-lhe dois traços por cima.
- Então como é?...
- É receber.
O pai corou. A irmã sentou-se na cadeira e ficou-se a seguir o aparo, espreitando por cima do braço.
- Eu e maila companheira cá vamos na graça de Deus.
Lembrou-se do selo. Selo de dois mil e quinhentos. "Deus!... Vai com letra pequena." A carta já fora para o correio. Todos os dias à espera da resposta. Não viera ainda.
- Se calhar perdeu-se...
- Espera-se mais uma semana. Se não chegar, escreve-se outra.
A mãe desencantara no baú o saco de ramagens da militança. Estava como novo. Borlas repolhudas de muitas cores. Cordões entrançados de amarelo e vermelho. Todas as noites,
mal arrumava a loiça e tratava do gado, sentava-se a coser. Roupa bem passada pela mão. Remendos nas camisas desfiadas.
- É um enxoval de noivo.
O Sr. Gouveia dera uma calça cinzenta que o pai lhe pedira. Um bocado comprida, mas em bom uso.
- Faz-se uma bainha e fica como nova.
Casaco é que não havia. Uma jaleca branca muito coçada nas mangas e toda passajada. Fora do D. António para picar toiros. Entufava-lhe nos ombros e passava-lhe os dedos.
61
- Isto- está catita.
Começava a ser senhor. Roupa corrida a ferro e bem
- Um bocado a menos daqui...
cosida. Botas, iam as mesmas. Cardadas e com sebo. O pai falou em dar-lhes tinta. Ficavam boas.
Nem se dizia do pagamento daquele ano, nem dos juros. Todos trabalhavam à finca na mesma, mas o que dominava em casa era a partida do Francisco. O compadre havia de responder,
pela certa. O pai já tinha dito que o acompanhava. Andaria de comboio pela primeira vez. Via-o passar dali todos os dias.
Quando o Sol se aprumasse mais, viria um lá de baixo a apitar e a deitar fumo.
- Pouca terra... pouca terra... pouca terra...
E levantou-se a imitá-lo, punhos cerrados ao peito,
- Se houvesse dinheiro...
corpo aos impulsos, pés a marcar o ritmo.
- Pouca terra... pouca terra... pouca terra... Debruçado à janela, a ver os campos correr. Lembrou-se da escola. Tudo passara já. Iam três meses. Agora, quando o compadre
respondesse, outra vida.
Sentou-se. Deixou-se cair e amparou a cabeça com a palma das mãos. O sol obrigou-o a fechar os olhos.
- Sr. Francisco, uma quarta de açúcar. Desse mais clarinho...
Balança a trabalhar. Peso de um lado, cartucho do outro. Sorrisos para a freguesa.
-E que mais?...
A Branquinha nunca mais teria os seus afagos. O guizo lá estava por entre os outros todos. Mais brincalhão que nenhum outro. A sua funda abandonada sem ter quem lhe metesse
pedras e as fizesse zunir encosta abaixo. Nem o Retas atirava mais longe. E a sua flauta de cana...
62
Procurou-a ao lado. Ergueu a cabeça e levou-a aos lábios. As ovelhas chegaram-se. O rio lá em baixo todo azul - azul com? o céu. Velas ao longe. Aqui mesmo na sua direcção,
uma grande, toda vermelha. O comboio silvou.
Da loja não veria o rio nem a vela vermelha.
63
2
Quem quer colher...
-Eh, rapaz! Vá lá ao carro de mão. Levas uma galheta. Tens de arrebitar essas orelhas. Deixou as pedras de sabão e foi buscar o carro ao armazém. O moço, de agulha em punho,
cosia a boca de uma saca e, quando o viu passar, deitou-lhe a mão e sacudiu-o.
- Saloio!
Ficou-se a rir numa gargalhada de surdina, não fosse o patrão ouvi-lo. Mastigou um nome - um dos que o João da Mouca lhe ensinara. "Aquele Seu Isidro... Só bochechas, que
parecia nem ter mais nada na cara. Olhos de rato-cego. Sempre às voltas com ele, aos nomes e aos encontrões. Ainda se fosse o Seu Zé, que era primeiro-caixeiro. Agora ele,
que apanhava cada desanda e era que nem uma parede, como o Seu Antunes dizia."
O carro rodou nas lajens do armazém. Encavalitou-se no fecho da porta e puxou-o de cima. Empinou os varais e deitou a correr para a loja.
- Vai só a saca de arroz. Ó rapaz!... Dizes ao Sr. Silva que não temos bacalhau sueco. Toma!
67
E estendeu-lhe a guia. Dobrou-a em quatro, com jeito. Ficara-lhe a lição. Um dia metera outra no bolso sem aquele preceito e as orelhas zuniram-lhe. Estava a ouvir o Seu Antunes:
"Então isso é lixo, ó quê? É tratar documentos como quem trata trapos?"
Baixou os varais, segurando-os de braços hirtos, porque saca de arroz não era saca de batatas. Pesadas que nem chumbo, aquelas bichas.
- Toca a andar. E vai num pé e vem no outro, que hoje temos torra. Põe-te de nariz no ar e depois queixa-te.
Por ali abaixo ia num virote. Deixava-o deslizar na calçada e era só amparar os varais, que o peso se encarregava de lhe dar impulso. Na rua sempre entretinha os olhos e podia
assobiar - assobiar as modas da sua flauta. Já escrevera ao pai. Queixas do trabalho e do trato. Mas a resposta tardara e quando veio não resolvia nada. "Era para seu bem.
Depois passaria a meio-caixeiro e tudo mudava. Quem quer colher tem de semear."
Um grupo de rapazes jogava à choca no meio da praça e ele teve vontade de encostar o carro a um lado e passar o tempo a ver. Os quatro a bater na rodela de cortiça, enquanto
o que roía se apurava em apanhá-la no ar ou metê-la no círculo de carvão. Mas o Seu José bem recomendara, com ar pouco amigo, que fosse num pé e viesse no outro. E o que o
Sr. José dizia não tinha discussão.
À sua frente a rua amarinhava. Os animais, quando a subiam, baixavam a cabeça e enrijavam as pernas. Ele tinha de galgar aquilo sozinho e saca de arroz não era saca de batatas.
Tomou balanço. Os olhos ficaram com os rapazes que jogavam. Aquele bocado da praça foi uma pêra doce. O impulso ainda deu para entrar na ladeira e ganhar ânimo. Fincou as
mãos nos varais e os pés no empedrado
68
da calçada. Corpo todo pendido à frente, rosto numa careta de esforço.
O carro mal se movia. Torceu-o para dar um arranco e não teve mais forças para o mexer dali. Sentou-se a limpar o suor, peito aos galopes. Pelo corpo um calor de fogueira.
Picadas nos braços tenros. Chegava-lhe a gritaria dos que jogavam à choca.
"Hoje havia torra. Ir num pé e vir no outro."
Levantou-se e deitou as mãos aos punhos do carro. Aquela trégua abafara o frenesi do peito. As rodas traquinaram na calçada. Os braços foram recuando e já tinha os varais
encostados aos ombros. Lembrou-se dos homens na cava.
- Ói!... Ói!...
Os gemidos não davam ajuda. Olhou a ladeira. Ainda faltava mais de metade. Deixou o carro vir atrás e impeliu-o com todo o ímpeto. As brochas escorregavam nas pedras.
Sentou-se de novo. Vontade de abandonar o carrego e abalar. Se passassem os homens de um circo, pedia-lhes para o levarem. Contava-se que roubavam os rapazes que viam, mas
talvez a vida de palhaço fosse melhor que a dele. Andar de terra em terra e fazer rir. E apareceu-lhe a cara do Seu Isidro, só bochechas, a arreganhar a boca.
Deitou as mãos às rodas. Foi um bocado assim. De cócoras e a recuar. Olhou a ladeira. Grande que nem a amarinhar para o céu. Nunca mais lá chegava. O Sr. José viria de mão
alçada saber da demora. Depois o costume.
A saliva começou a faltar-lhe. Uma ardência a nascer-lhe do nariz e a inundar-lhe as faces e a espremer-lhe os olhos.
Ainda se tivesse quem o ajudasse. Só que fosse a amparar os varais para a saca não cair. Já tombara duas vezes para os braços e por um pouco não se sujara na rua
69
molhada da chuva. Passou uma carroça puxada por um cavalo. De chicote em punho, ao lado, um homem incitava o animal. Batia-lhe com o cabo na barriga e falava-lhe.
Deu volta ao carro. Meteu-se entre os dois punhos e os brados do carroceiro animaram-no.
Cabeça baixa. Pernas tensas pelo esforço. Mãos bem fincadas unidas ao peito. Pelo ombro entrou-lhe uma dor que saiu à costela e voltou atrás para ficar. Boca aberta em arfares
contínuos. Suor a pingar-lhe da testa e a juntar-se às lágrimas.
"Depois passaria a meio-caixeiro e tudo mudava. Quem quer colher tem de semear."
As botas a patinar nas pedras não lhe davam apoio.
Um chuvisco miúdo começou a cair e refrescou-lhe o rosto ardente. Alçou a vista e quase já vencera a ladeira. Mais uns metros e entraria na curva da loja do mestre funileiro.
Caminho suave depois. A carroça desaparecera. Só ouvia os incitamentos do carroceiro e o estalar do chicote.
Quedou-se a juntar forças. A chuva estava em morrinha, mas molhava a saca. Passou-lhe a mão. O Silva ia esbracejar, fazer-se vermelho e dizer aos berros que "assim era uma
gaita". Se fosse dia de a asma o apoquentar, encafuava-se no casinhoto do escritório e mandaria um bilhete - todo queixas. Nunca lhe fizera mal. Quando chegava, punha-se humilde
como um cão, mas parecia que o Sr. Silva se embravecia mais.
"Isto é uma gaita! Preciso do arroz e agora ponho-o aí de lado, à espera que enxugue. Qualquer dia passo-me para o Matos e acaba-se esta ralação."
O Matos e o Seu Antunes não se cosiam. Eram as duas maiores casas do género. Despique nos preços e na freguesia. Os outros sabiam e andavam sempre com aquela ameaça.
70
Todos os dias o patrão recomendava: antes quero partir a espinha que deixar fugir um cliente para aquele fona do Matos. Relaxa os preços o ladrão. Amola-se, que encontra um
homem pela frente.
Cumprimentavam-se, desfeitos em sorrisos, cerimónias para aqui e para ali. Mas no fundo dos seus olhares havia ódios adormecidos.
Despiu a jaqueta que o D. António dera ao pai e pô-la por cima da saca. A calçada brilhava mais negra.
Sentiu arrepios no corpo e a cabeça esvaída - uma tenaz na nuca e as fontes a latejar. Passou a manga da camisa pela testa e deixou-a mais molhada. Pernas tensas de novo.
Uma, atirada à frente, em ângulo; a outra, a buscar apoio no empedrado em espelho. Lembrou-se dos homens na cava.
- Ói!... Ói!...
O carro torceu-se e ele cambaleou. Fincou os dentes, ciciando uma praga. Atirou cuspo às mãos e os varais aliviaram-se. Cabeça baixa. Braços vencidos.
Passava gente. A chuva apressava-a. Ninguém reparava nele. Um impulso que fosse, na rabeira, e era um ar. Uma só mão no ombro talvez bastasse. Mão amiga que lhe desse companhia
e falasse de carinhos que não tinha. Mas os que passavam levavam rumo e não podiam Compreender as suas ânsias.
Um pé-descalço riu-se do seu esforço e incitou-o, como o carroceiro que ajudava o cavalo. Faltava-lhe a guizeira e o Seu Isidro, ao lado, de chicote na mão.
- Saloio!... Vááái!...
Se passassem os palhaços... Número de circo "de sensação. Subir a Rua Direita com Uma saca de arroz" num carro. Cara pintada de zarcão e farinha. Botas de légua e colete até
aos pés.
71
Guizos ao pescoço. E o Seu Isidro a rir, só bochechas. Seu Isidro com três cabeças. A do Seu Antunes e a do primeiro-caixeiro a cada lado.
Vermelho que nem colorau, o Seu Silva de braços abertos.
"Isto é uma gaita!..."
Jaqueta molhada em cima da saca. A chuva a penetrar-lhe as carnes, como bicos de alfinetes. E a dor das costas a alastrar, como um borrão de tinta. A ir até aos braços e a
enleá-los. A subir à cabeça e a desenhar-lhe o olho esquerdo com um bico na nuca.
Largar o carro e deixar-se cair como um boneco de trapo - todo enrolado. Fim de número. O Seu Isidro, com três cabeças, pegava nele debaixo do braço e levava-o para dentro.
Na geral davam gargalhadas. Nas cadeiras franziam os lábios.
Folha a bater - quase na curva. Aquele som pousou-lhe no ombro e deu-lhe ajuda.
- Ói! Ói!
Levou-lhe os desvigores e entregou-lhe outros braços - braços novos sem dores a enleá-los.
Era como se carregasse sacas de batatas. Varais de penas. A chuva acarinhava-lhe o rosto e dizia-lhe ao ouvido a melodia da sua flauta de cana.
O Seu Antunes não parava, a arrastar os pés. A sua cara de cera, moldada em ângulo, ganhava naqueles dias uma expressão alegre. O reumático esquecia-se de o atazanar. A tosse
cavernosa da sua bronquite não lhe dava iras.
Os lotes de café da loja tinham fama. O Matos não lhe conhecia o segredo, por muitos empregados que desafiasse com melhores ordenados. Aquilo não confiava ele
72
a ninguém. O seu saber não o comprava o outro, por muito dinheiro que fizesse tilintar.
- Morde-se, o cigano. Mas nem no testamento o hei-de dizer. O segredo é a alma do negócio. E este vai comigo.
Dava risadinhas curtas, logo tomadas pela tosse, que lhe fazia encher as bochechas, escorridas como a sua barbicha rala. E afagava as mãos compridas e secas, fazendo estalar
as articulações dos dedos.
- Nem a um filho, se o tivesse. Cada um aprende na vida aquilo que pode. Os médicos receitavam que ninguém os percebe. Eu tenho estes lotes que boas canseiras e amargos de
boca me deram. Não sou tolo que os vá dizer a qualquer.
O Matos fazia constar que ele deitava feijão furado nas misturas. Chicória e cevada em barda. Mas do autêntico só um cheiro.
Os fregueses não queriam outro. Café do Seu Antunes era já tradição que passava nas famílias. Era a sua parte no testamento de todos. Avio em qualquer loja. Agora café...
E atrás daquilo iam outras coisas.
- Lá no bacalhau e na massa pode ele ser igual. Mas nisto...
E batia a mão na lata.
--Nisto... Há-de nascer duas vezes.
E repetia o reclamo que publicara no jornal.
- Cafés não faltam. Mas CAFÉ... Só na Pérola Nova.
Ajeitava o boné de bombazina preta, movendo-o, nervoso. Pés pesados, como se as carnes que lhe faltavam tivessem escorrido para baixo. Dava um passeio curto e voltava a conversa.
Em dia de torras, o Seu Antunes aliviava dez anos. Vestia um guarda-pó desbotado e toda a gente o conhecia de manhã. Falava aos caixeiros de outro modo e não aviava ao balcão.
Nem mesmo a D. Sofia
73
tivera a graça de ser atendida. Foi cumprimentá-la, todo meneios, e desculpou-se.
- Paciência, D. Sofia. Desculpe a falta... Mas vou tratar da sua bebida. Sr. José! Venha aqui à D. Sofia. Trate-a bem...
Voltava aos sorrisos.
- É trabalho que não deixo a outros, minha senhora. O Menino Eduardo?... Um rapagão!... A cara do pai por uma pena. Com sua licença...
Bateu-lhe nos braços pancadinhas leves e sumiu-se no armazém a dirigir os preparativos.
O torrador já cheio. Correu-lhe o fecho e meteu as pontas dos dedos, tirando uns bagos que espalmou na mão.
- Muito bem feito, este moca. Quantas sacas ainda temos?
Acenou a cabeça e foi ver a fornalha.
- Mais uns, cavacos, ó Isidro. O lume também tem a sua conta.
O Francisco é que andava embezerrado. Depois de uma estafa até ao Silva, torrar café. Dia torto. Dia de cachações. Aqueles dedos de verdasca sempre prontos para molhar a sopa.
Agarrou no gancho e mexeu o fogo. Estalidos de lenha molhada. Dos beirais do telhado os pingos corriam em fio e tamborilavam nas pedras polidas do quintal. Espasmos de relâmpagos.
Resposta de trovões. Nuvens a fundir-se.
-Vá, Isidro! Isso ligeiro. Lenha para dentro dessa fornalha e põe-ma aí à mão.
Pegaram no torrador e meteram-no nos encaixes. O Seu Antunes tossiu, mas não deu ralhos. Puxou do lenço e enxugou os lábios. Correu a mão pela barbicha e fungou.
--Vê lá como me tratas disso. Volta sempre igual e bem temperada.
74
O marçano arrastou um caixote vazio e sentou-se a mover o torrador. Grazinar de grãos a correr de um para outro lado. Gancho entre as pernas. O lume amarinhava até cá fora
e lambia de vermelho o tambor.
- Sempre para o mesmo lado e certo.
O Seu Antunes queria-o máquina. Força igual no braço. Nem depressa, nem devagar. Era ele quem pagava os esmeros da sua fama. Mão leve para o primeiro descuido, com tempestades
de tosses e bramações. Parecia que o Seu Antunes aprendera também com o João da Mouca toda a sabedoria dos seus palavrões.
- Isso nunca pára! Já sabes como te mordem...
E fora-se pela porta do armazém da sacaria, olhos no chão, como em busca de alguma coisa. Peso da idade. Braços a balouçar, mãos caídas e arrepanhadas para dentro, como garras.
Um freguês dissera, a rir, que aquilo era do costume de meter para o saco.
Reparou-lhe no jeito e sorriu-se também. Um pregueado leve na boca, mas lá dentro em gargalhadas altas de troça e vingança. O pai recomendara-lhe respeito a todo o mundo.
Não conhecia aquela vida. Arribar de noite para pegar no trabalho e nunca mais um minuto para respirar sem pesadelos. Almoço de fugida e sempre igual. Feijão frade com vinagre.
Batatas, um dia ou outro, e pão duro. Lá lhe valia algum resto em dia de lavar a louça. Seu Antunes tratava-se bem. Mas não passava de amarelo e ossos. Parecia um cabide de
fatos. Com comida daquela todos os dias era para estar como o Sr. Sousa - mais largo que alto. Se o Seu Antunes fosse largo como o Sr. Sousa, talvez tivesse menos rabuge e
mais saber. Homem fona, a meter-se em tudo, sempre de nariz estendido. Daí a pouco voltava e toca de largar das suas.
- Rapaz! Isso certo! O segredo começa aí...
75
A mão do torrador ia aquecendo. O braço despegara-se do corpo e já se fizera máquina, como os braços do comboio. Todo aquele lado tomado de moinha. Aguentar tudo até poder,
para depois mudar de mão.
Chiada dos eixos. Pegou na almotolia e deitou-lhe um fio de azeite em borra. O calor a tomá-lo. Cabeça esvaída. A vista a hesitar, levada pelo bafo da fornalha que fazia o
ar espesso e incertas as coisas.
Os pingos da chuva beliscavam-lhe os nervos. Nervos de folha, onde os pingos tiravam sons.
O braço a parar. Ele queria impeli-lo, mas não obedecia agora à sua vontade. Estava isolado de si; a mão do torrador roubara-lho. Maneta, como os pobres das romarias. Sentado
ali, à espera da esmola dos que passassem. Ninguém vinha. Só o Seu Antunes não tardaria e esse dava esmola de tabefe.
A outra mão tinha o gancho agarrado e sentia-a bem, porque os dedos mexiam. Via-os confusos, na incerteza do bafo trémulo que o envolvia.
A porta rangeu. A cara do Seu Isidro a espreitá-lo. Vontade de lhe chamar um nome. O moço vinha embezerrado e olhava para todos os lados. - Não viste a medida grande? Acenou-lhe
a cabeça. Nem que a tivesse debaixo dos olhos lhe diria outra coisa. Responder-lhe como igual. Abrir o bolso das calças e perguntar-lhe se estaria ali dentro.
Seu Isidro, numa dobadoura, que nem um cão a farejar pelos cantos. Risos mortos na sua cara de palhaço. Branco e trémulo, a falar entre dentes.
O torrador a grazinar. O braço despertara e dava-lhe um andamento mais rápido. É que o traquinar dos grãos dizia mofas ao moço do armazém, parado, no meio do alpendre, de
mãos caídas e olhar baixo.
76
- Não viste, Francisco?
Olhos suplicantes, voz sem arestas.
Rebuscou na memória. Seu Isidro não tinha bochechas, não sabia rir. Era agora, como ele, um pau para toda a obra.
--Já procurou em cima da tulha do sal?
- Já!
A porta rangeu. O primeiro-caixeiro passou que nem um rabo de vento.
- Então, homem?... Olha que ela não cai com a chuva. Encafurnam tudo e depois é ouvir a lengalenga toda a tarde.
Seu Isidro ficou mais trémulo. Via-se que queria fazer qualquer coisa, mas não sabia bem o quê. Olhos pequeninos e vermelhos, inquietos.
Procurou no mesmo sítio. A tosse do Seu Antunes ao longe, como o ribombar de um trovão. Tempestade a chegar, arrastando as pantufas. O primeiro-caixeiro esgueirou-se pela
outra porta. Seu Isidro ficou a procurar no mesmo sítio, sem ver nada.
- Todos se servem e eu é que tenho de saber.
A tosse a caminhar para ele. Mais presto, o moço não parava, a vasculhar os cantos. O torrador tinha ouvido e lá ia no mesmo ritmo. O fumo ardia nos olhos e o calor ensopava
a camisa. O cheiro do café enchia-lhe a cabeça.
- Casa do inferno! Isto leva tudo uma volta...
Seu Isidro baixou mais o corpo. O patrão ficou a bater o pé de impaciência. Mudara de cor. Estava como a garrafa de licor verde com rótulo bonito. Cara moldada em ossos. Barbicha
a tremelicar. As mãos mais aduncas, a agarrar o espaço. Quis abrir a boca e a tosse voltou.
O moço não ouvia. O marçano mirrara-se no caixote e só escutava a gralhada dos grãos. A volta incerta.. Duas rotações em corrida e a outra frouxa. O braço sem tempêro
77
e não lhe tinha mando. Já não era do seu corpo. Não o sentia, como ao outro que agarrava o gancho na mão.
Inquieto no caixote, uma vaga de calor a correr-lhe todo o corpo. Seu Antunes encostara a cabeça à cantaria da porta e tossia mais. Parecia-lhe que de um momento para o outro
o veria estalar e cair aos pedaços. Só lhe descobria a ponta do queixo com a barbicha a nevar e o boné de bombazina preta. O fato desengonçava-se todo, como se dentro só tivesse
vento.
O moço olhou-o de revés e passou-se de ilharga pelas suas costas.
Gemidos dos eixos. Levantou o torrador do lado da mão e deitou-lhe azeite. A maior parte caiu na fornalha e os estalidos crepitaram. O lume pouco vivo. Pegou em dois cavacos
e atirou-os para dentro, recuando a cabeça.
Braço como os braços do comboio. Fechou-se a tudo, querendo graduar as voltas, mas o torrador não obedecia à sua vontade. "Quando o Seu Antunes abalasse, mudaria de mão."
Aquela sentia-a bem. Moveu os dedos, batendo as cabeças na perna. Todo o braço estava vivo. O outro apodrecera e ia com o torrador aos galões e aos amuos. Vontade de chamar
o Seu Antunes e contar-lhe tudo, antes que a tosse acabasse.
"Seu Antunes, não tenho culpa. Fui andando, andando, e o braço ficou agarrado à mão de ferro. Deixou-me uma ferida aqui e quero respirar e dói-me dentro. Não sei o que isto
é, Seu Antunes."
Passou o pano pela testa. Pareceu-lhe que, se o passasse de novo, limparia todos os pensamentos e aquela moinha que tinha na cabeça. Moinha como o grazinar dos grãos. Como
se tivessem corrido e se revolvessem na terra. Calor não faltava. A cabeça a girar no pescoço. E o pescoço a gemer, como os eixos sem azeite.
78
Tosse mais funda. Seu Antunes tinha a tosse nos pés, com certeza. Tanta força para puxar escarros, não estavam noutro sítio. Ficou a arfar. Respiração funda e ruidosa. O fumo
provocou-lhe tosse também. Quis abafá-la, não fosse o patrão julgar que era de troça. Endireitou o busto e correu o olhar pelo telheiro.
- O Isidro?
O braço a dormir. Ouviu a pergunta, mas não lhe deu eco no entendimento. Vagueou a vista. Sabia que o Isidro abalara e era como se tivesse esquecido.
- Não ouves?
- Já abalou.
Resposta indecisa. No pensamento tinha outra ideia. Ideia danada. Havia de ser bonito, se a boca a repetisse.
"Está aqui na algibeira."
Seu Antunes passou-lhe ao pé e pôs-se por detrás. Sentia-lhe a respiração. Era como se o arfar lhe calcasse os ombros e o empurrasse pelo chão. Chão de pedra não o deixa enterrar.
Apertado entre a pedra e a respiração do Seu Antunes. Cada vez mais pequeno. Mirrado que nem um grão. Só a cabeça maior ainda. Cabeça do tamanho do torrador.
"Seu Antunes, não tenho culpa!..."
Uma chicotada dos dedos vergastou-lhe a cara. Cabeça maior ainda.
- Isso é à bambalhona? Vocês querem-me doido, mas eu amoio-os.
Deitou-lhe a mão à orelha e retorceu-a. Pôs-se a gemer. As lágrimas correram. Boca cerrada. Peito a arquejar. "Seu Antunes, não tenho culpa!" Atirou-lhe um empurrão.
- Fora daí! Uma vida inteira nisto e não há meio. Nem que eu ensinasse tudo, eram capazes de fazer café irmão. Brutos!
79
Sentou-se no caixote e o rapaz ficou-lhe à frente.
- Sempre igual. Dá-se este balanço e nunca mais pára.
Via-o confusamente, através das suas lágrimas.
Com o gancho, o patrão correu o ferro da tampa e espreitou. Deu-lhe mais umas voltas. O fumo puxou-lhe a tosse.
- Pega daquele lado. Já é tempo de mexer isto. Alçaram o torrador e tiraram-no da fornalha. Seu
Antunes levantou da sua banda e ele baixou-o. O peso correu todo àquele lado e derreou-lhe os braços. Depois o inverso. Pernas bem abertas a fazer base. Mão no queixo e abaixo.
Fumo a arder nos olhos.
- Isso certo!
Seu Antunes não se podia baixar muito e ele tinha de se pôr em bicos de pés para dar o balanço. O pano corria-lhe das mãos - acima e abaixo. Tinha de se sacudir bem, não se
pegasse o café. Era uma fortuna perdida. Havia ralhos para mais de oito dias.
O torrador correu ao seu lado e não lhe teve mão. O pano escorregou e a ponta do cilindro tocou-lhe os pulsos. Dois vincos de carne nova e cheiro de porco tostado.
Deu um grito. Seu Antunes estremeceu e depois riu. Os dentes grandes e ralos, como as teclas de um piano em ruínas.
- Fazem tudo de brincadeira e depois queixam-se. Ficou a grunhir com dores. O cheiro incomodava-o
ainda mais. Era como se tivesse caído à fornalha e a carne se tostasse, como a da marra que o pai chamuscava pelas alturas do Natal.
- Vai lá acima à senhora que te ponha qualquer coisa. Num foguete...
Abalou pela porta. um grito agarrou-o pelos ombros.
80
- Dá aqui.
Sentou-se no caixote. Mudou de mão. Cara voltada para o muro. Fios de chuva escorriam dos beirais do telheiro. Tarde cinzenta. Os braços da acácia cortavam o céu. Sem flores.
Folhas voavam e vinham até ele. Noutros dias pousavam ali pássaros. Hoje só gotas de chuva.
Olhou o pulso livre. Uma mancha cor-de-rosa com pontos escuros. Um bocado de pele arrepanhada, como a fazer-lhe caretas. As ardências minavam-lhe a carne, como se o fogo tivesse
ficado a propagar-se e andasse a correr-lhe por toda a mão.
Seu Antunes à sua frente com um bocado de manteiga num papel.
- Põe isto!
Os seus olhos interrogaram-no.
- É bom. Põe!
Seu Antunes estava doido. Manteiga é boa para pão. Agora em queimaduras... Era pão torrado é que a senhora a punha, quando tomava chá.
- De que estás à espera?
Com a ponta do dedo, passou-a pelo vergão queimado. Ardia mais. "O que arde cura." Pôs o papel na borda do caixote, entalado com a perna. Levantou a mão do torrador e deitou
uns cavacos na fornalha. Com a ponta do gancho arrumou-ós lá dentro. Caiu cinza em baixo que arrefeceu ao contacto da pedra, fazendo chiada.
- Agora mais devagar, rapaz.
Volveu a cabeça. Deitou a mão ao papel e lambeu-o todo. Ficou a mancha de gordura. Olhou-a à transparência. Lambeu novamente. A língua pelos cantos da boca e pelos lábios.
Lengalenga dos grãos no torrador. Cantiga para adormecer. Uma indolência insistente a penetrá-lo. Cabeça
81
esvaída e corpo lasso. Só os pingos de chuva o despertavam. Tilintavam-lhe os nervos.
O muro todo húmido, com manchas verdes e cal tirada. Os ramos da acácia sem flores e de folhas mirradas. Fecharam-se-lhe os olhos. Abriu-os num sobressalto. Sentiu a zuir
no ar as pontas dos dedos do Seu Antunes. Levou a mão à cara e pareceu-lhe que ainda lá tinha o vinco. Um sorriso largo - gargalhada sem som. Seu Antunes não viera.
As costas a derrearem-se. A dor do ombro cada vez mais fina. Cantiga de berço, a do torrador. Embalava as costas e a dor do ombro. Pendeu a cabeça. Aquele braço também não
lhe pertencia.
Gotas de chuva a beliscar-lhe os nervos. Olhos cerrados. A cabeça girava com o torrador, arrastando grãos de pensamentos. Pensamentos partidos e dispersos.
Céu cinzento. Nem flores na acácia. O fumo da fornalha ardia nos olhos e trazia lágrimas.
82
Nuvens
O SEU Antunes tinha os fregueses mais grados da terra. O doutor juiz e o conselheiro Neto, o Sr. Sousa, o sábio da Grécia, como o primeiro-caixeiro lhe chamava, e a D. Antónia,
que tinha costela fidalga e ia à missa todos os dias, numa caleça puxada por duas mulas maneirinhas, enguizalhadas e gordas que era um regalo vê-las. O Moita nunca conseguira
levá-los, por muitas amostras e notas de preços que lhes mandasse. Eram fregueses fiéis que não abalavam com coisa alguma. A D. Antónia, muito miúda em tudo, mandava o seu
bilhetinho pelo cocheiro, de quando em quando, a protestar contra o peso. Tinha balança em casa e tudo aquilo era pesado e repesado, antes de entrar na despensa, donde só
saía com nova passagem pelos pratos, e com muita conta. Os outros nem disso falavam. Seu Antunes recomendava sempre muito bom peso e boa qualidade em tudo que lhes aviassem.
A preferência dos quatro envaidecia-o. Falava neles e no seu café, como o Sr. Sousa falava do seu saber. E demais eram todos fiéis ao rei, o que não sucedia com o Moita, que
tinha fama de republicano assanhado.
83
- Os senhores é que têm a culpa. Quem o inimigo poupa...
O Antunes entendia que se deveriam encerrar as lojas de todos os que não fossem gratos à coroa. Não se ia discutir se eram progressistas ou regeneradores. Esses tinham as
suas turras, mas lá iam nas graças.
- Agora os republicanos... Deixá-los fazer a sua vida por aí, chamando a Sua Alteza quantos nomes lhes dá na bola? Fazerem casa à sombra da monarquia e tratarem-na de tudo
quanto é mau?!...
O Sousa dava à cabeça e ensaiava o seu sorriso superior. Esfregava as mãos e chegava-se mais. O primeiro-caixeiro preparava-se para ouvir a lição do "sábio", indo compor os
maços de papel e pegando no pano, para o passar pelo balcão e pelas balanças.
- Vamos lá, Sr. Antunes. Nem tanto assim... O amigo perde a cabeça. É preciso sermos superiores, esmagá-los com a nossa soberana indiferença. De cabeça bem erguida, saibamos
defrontá-los, como os aristocratas de Atenas defrontaram a reacção do partido popular.
- Mas Atenas era Atenas, Sr. Sousa. O senhor sabe bem que era assim.
- Sem dúvida, meu amigo. Eu que conheço a história de todos os povos por dentro e por fora, como o senhor conhece o seu "café", ou o nosso caro doutor os seus códigos...
O juiz pegou na bengala e foi até à porta, batendo-a na soleira, enquanto erguia o pescoço, num trejeito de libertação do colarinho alto e rijo.
- Exemplo de Sócrates...
Seu Antunes calou-se, vencido. Pensou que Sócrates era pessoa com quem se não podiam defender opiniões e ficou-se a tossicar, pondo a mão no peito. O primeiro-
84
-caixeiro tomou nota do nome para procurar no dicionário e indagar do Sr. Sousa, quando estivessem sós, quem era esse tal dos exemplos.
- Ó Sócrates!... Sócrates!...
E ficou a passear o nome nos lábios, gingando o corpo anafado.
- Mas quem são os republicanos, Sr. Antunes? Ainda se fizessem uma república como a de Platão... Seria eu o primeiro republicano. Platão foi meu mestre!
E arregalava os olhos, compondo as guias do bigode farto.
- Meu mestre!... Estivesse eu para me ralar... Puxava polémica com um desses e dava-lhe uma sarabanda...
Risos secos de troça. Mão papuda a gesticular surra. Foi até à porta, para junto do juiz.
- Que diz o doutor a isto?
- Ora! Que o eixo do mundo está nos códigos. Que se dessem mais ouvidos aos homens de lei, tudo iria diferente.
- E aos sábios, doutor. Empaspalham-se a escutar todo e qualquer. O povo... o povo... e não falam noutra coisa. Que é o povo?!
- Expressões vagas. Palavras!...
- Cavalices!
- Agora é que disse bem o Sr. Sousa - interrompeu
o Antunes, compondo o boné. - O Moita... o Gregório,
sapateiro... Cavalices, disse bem. E esse barbeiro novo que para aí veio?... Não respeita Deus, nem ninguém... Sabe os versos desse Junqueiro de ponta a ponta. Esses tais
do caçador Simão...
O Sousa, na sua voz forte e pausada, um pouco rouca, pôs-se a declamá-los.
- Papagaio real, diz-me quem passa?
85
Silêncio.
- Ora se endireitávamos. O doutor com os seus códigos, eu com os meus alfarrábios...
- A propósito, Sr. Sousa. Disseram-me que o tinham convidado para a Real Academia.
O outro hesitou, compondo um sorriso.
- Falaram-me...
- Nada disse aos amigos...
- Tenho tanto em que pensar. A minha modéstia não podia permitir.
- É modéstia demasiada, Sr. Sousa. Os homens de talento...
O Sousa sacudia o corpo, esfregando as mãos.
- Sabe... Aquilo está um pouco abandalhado. Todo o bicho lá entra. Prefiro o isolamento.
- Presta um mau serviço ao País. Os homens como o senhor deviam aparecer mais... não se fecharem tanto...
- Aberto aos astros, como me hei-de abrir aos homens?! Quando morrer, lá encontrarão tudo no meu espólio.
- Obra póstuma!
- Se o entenderem... Não espero monumento. Cofiou o bigode demoradamente.
- Era um acto de justiça!-exclamou o Antunes, satisfeito de ver tudo composto.
- Oh, a justiça...
E emendando, solícito:
- Não digo a dos códigos. Por essa veia o nosso doutor.
- Cumpro o meu dever.
- Fora assim toda a magistratura...
- Mal comparado é como nos negócios - atalhou o Antunes. - Todos abrem a porta e se põem por detrás de um balcão.
88
- Isto também tem os seus preceitos.
- Se os tem...
E meneou a cabeça.
- Não tanto como a justiça e a ciência.
- Mas não é para qualquer. O comércio é a alavanca do mundo.
- O saber para abrir caminho...
- A lei para justificar...
- O comércio para construir...
O juiz puxou do relógio e disse que já eram horas do seu chá. Cumprimentou o Sousa e o Antunes, e tocou a ponta do chapéu para o primeiro-caixeiro.
Silêncio.
Uma mulher entrou e pediu uma caixa de pavios.
- Mais alguma coisa? Recebemos um bacalhau de segunda que é melhor que pescada.
Tirou um peixe. Sacudiu-o e pôs-se a mirá-lo.
- Um poucochinho empoado, mas... uma delícia. Vai uma quarta?...
- Não, não.
O Antunes aproximou-se, arrastando as pantufas.
- Leve, que já não há muito.
- Talvez amanhã.
A mulher saiu, metendo as mãos entre o xaile.
- Vá até ao armazém ver aquela gente, Sr. José. Eu fico por aqui.
O Sousa pôs-se a passear, de mãos nas algibeiras.
- Então, amigo Antunes, que tal?
O outro encolhia os ombros. Freguesia de mês e de boas contas não há à larga.
- Excitou-se um bocadinho...
- Pois se lhe parece.
A tosse do Antunes. Os sorrisos do Sousa.
89
- Levei-o à parede, hã?... Um poucochinho desactualizado, aquele doutor.
- Que as leis... - Sim, mas...
- É verdade isso da Academia?
- Sim, houve um pedido para entrar. Mas não diga nada por aí. O Rebelo do Mensageiro publicava qualquer coisa e era um aborrecimento.
- Eu acho que essas notícias se deviam saber. Para glória cá da terra...
- Eu sou modesto, sabe, Antunes! Essas coisas...
Ficaram os dois à procura de assunto. O Sousa foi até
à tulha de grão e tirou um punhado, que passou nos dedos.
- São horas de ir aos livros.
- O amigo depois que se formou ainda trabalha mais.
- É feitio, amigo Antunes. Isto vai comigo. Hei-de ter a morte à porta e ainda estarei investigando as estrelas ou a vida dos Persas. É muito interessante a vida dos Persas.
Um grande povo!
-Também creio. Nem sei como essa cabeça...
- Ora, amigo! São destinos marcados lá de cima. Se desse para ser como esse balcão, que remédio!
- É como diz. Já vimos com caminho certo.
- Você, Antunes, veio a este mundo para nos dar esse delicioso café. Nem em Lisboa se bebe melhor. Se eu estivesse no seu lugar, mandava uma amostrinha,ao paço.
- Hum!...
- É o que lhe digo. E depois nos anúncios, em letra bem gorda: "Fornecedor da Casa Real." Choviam-lhe pedidos de todos os lados.
- Estou velho para alargar isto. Não tenho filhos...
- Ficava o nome. A certeza de que, quando morrermos, a nossa memória se prolongará na vida. É a única consolação!
90
- Mas a nossa modéstia...
- Não a poderemos guardar depois de mortos. Quando morrermos, deixamos de pertencer a nós próprios. Somos do País. A morte excede muitas vezes a nossa vida.
- Chamar-lhe-ão o modesto sábio...
- E a você o conceituado comerciante da nossa praça. O seu café será lembrado por muitas gerações. Café será sinónimo de Antunes.
- E o amigo terá estátua na praça cá da terra. E bem merecida.
- Sou pequeno de mais para tamanha honra.
As sombras entraram na loja. Deram o braço e foram andando, em passos arrastados, até ao passeio. Olharam-se e sorriram.
91
Patrão fora...
DEPOIS das onze horas, a terça-feira era dia morto. Atendiam-se de manhã as mulheres que voltavam da
praça, e só raramente entrava alguém. À barafunda dos
cumprimentos, dos corredores nas tulhas, do bater dos
pratos das balanças, sucedia o silêncio.
Ouvia-se o zuir das moscas. Seu Antunes farejava pó para mandar limpar, passava pelo armazém a descobrir mudanças de sacaria e abalava até à Flor da Praça. Era lá que se reuniam
à noite os empregados da fazenda e o chefe dos correios, famosos em jogos de cartas. No cubículo do fundo juntavam-se até de manhã, na sueca e na manilha, com apostas de dois
tostões e mais.
O Pacheco tinha sempre um licor de ginja que ele mesmo fazia e era o regalo de quantos por ali davam dois dedos de conversa. A ginja e os bolos de amêndoa que a D. Augusta
fabricava tinham fama em casamentos e baptizados.
Antunes Silveira tinha aquele vício. Sempre que podia dava a sua volta por lá. Andava de turras com o Pacheco em par lidas de gamão, jogadas a cálices e bolos. E nunca
92
se convenciam de supremacias, que ambos de teimosos não perdiam e tinham as suas farroncas de sabidos.
A terça-feira era dia de combate prolongado. O Pacheco dispunha a mesa e as duas cadeiras por baixo do espelho grande, e sentava-se, de tabuleiro à frente, à espera do outro.
Ia olhando o relógio e mirando a praça.
- Que diabo!... O Antunes hoje está pior...
A D. Augusta atribuía a demora a algum viajante que viera com o mostruário fazer negócio ou algum "aperto" de freguesia.
- Onze horas!...
Lavava os dois cálices de cristal e punha a garrafa em cima do balcão, ao pé dos frascos dos dropes.
-Ó homem, que coisa!
Assim que a figura esguia do Antunes assomava à esquina, braços pendidos e mãos em garra, pés arrastando a sua debilidade, o Pacheco fazia-se outro. Sorria e soprava nas mãos,
dando estalidos com a língua. E vinha receber o amigo ao meio da praça, tomando-lhe o braço.
- Essa bronquite?
- Na mesma, homem.
- Julguei-o com algum ataque.
- Graças a Deus... antes assim que pior. Sentavam-se frente a frente e dispunham as pedras.
- Hoje é que vai saber como se joga o gamão. Dou-lhe uma trepa...
- Lá conversa tem você. Agora acções...
- Pois sim. Ande lá, que quem as tem é que as joga. O primeiro milho é sempre dos pardais, meu amigo.
- Ó Augusta! Enche cá...
E era preciso a senhora mandar recado pelo marçano, que o estômago nunca mais se lembrava do almoço.
Assim que o viu pelas costas, o Sr. José encostou-se ao balcão a mastigar um canudo de massa e, distraído, foi
93
riscando, numa folha de papel, nomes e rabiscos. Ficou assim largo tempo, parando de vez em quando a olhar a rua. Mas talvez não visse o que lá se passava, porque o Sr. Sousa
assomou à porta e ele continuou na mesma abstracção.
O meio-caixeiro é que o cumprimentou de cima do escadote, deixando de alinhar as garrafas de porto na prateleira.
-Olha o Sr. Sousa...
- Estava a pensar na rapariga, não? O outro fez um gesto evasivo.
-- O nosso Antunes?
- Deve estar no Pacheco. Terça-feira...
- É dia de casmurrice. Gabo-lhe a paciência...
E foi andando para a outra porta, polegares metidos no bolso do colete. O primeiro-caixeiro amarrotou o papel e deitou-o para o lado, ensaiando continuação de conversa. Tinha
o deslumbramento do saber do Sr. Sousa e sempre que o apanhava de ensejo, não parava com as perguntas. Fazia versos às escondidas e já, por mais de uma vez, se tentara em
mostrar-lhos.
--Continua com as investigações sobre os Persas?
Devia ser um povo bem estranho, esse que o Sr. Sousa descobrira. Nunca tinha ouvido tal nome, mas adivinhava-o cheio de mistérios. Um povo mais esquisito que os Bóeres tão
falados na guerra com a Inglaterra.
- Fazem versos, os Persas?!...
- Certamente! - respondeu-lhe o outro com o seu ar superior.
- E têm grandes poetas! Enormes poetas! Acenou a cabeça, consertando o lápis na orelha.
- É difícil, a língua?
- Muito!
- Assim uma espécie de francês...
94
- Mais difícil. Eu que conheço umas tantas línguas...
- Ah sabe!...
--Naturalmente. Como ia estudar um povo?
Confuso e deslumbrado, o Sr. José ficou sem mais palavra. O outro despediu-se e saiu de cabeça erguida.
O meio-caixeiro arrastou o escadote e foi arrumar as prateleiras dos pacotes de velas. Era serviço repetido em todas as falhas de freguesia.
- Numa loja há sempre que fazer. Mudam-se os lugares às coisas, desarruma-se e torna-se a arrumar, mas nunca se pára. O empregado que se encosta ao balcão nasceu para moço
de esquina.
Seu Antunes dizia aquelas palavras a propósito de tudo. Para quem tinha aspirações só havia que cumpri-las.
O primeiro-caixeiro voltou para dentro do balcão e pegou de novo no lápis.
No Mensageiro vinham sempre versos de vários poetas na segunda página. O Henrique Florêncio já publicara o seu "Adeus à Lua" e a D. Maria Celeste, filha do farmacêutico, mandara
também umas quadras, "Cravos de S. João", que tinham feito sucesso. Do lado esquerdo, na primeira coluna, às vezes a apanhar duas: "Manjar dos Deuses". Era o melhor que o
jornal trazia. Se publicasse algum dos seus, seriam para duas colunas. Via-se melhor. Alastrava por toda a folha aquela secção. Hesitava sempre na assinatura. José Brás não
ficava bem. Outro nome daria mistério. Começariam por perguntar ao Rebelo e sabia-se na mesma. "Parabéns!... Com que então..." Camões é que era mesmo nome de poeta. José Brás
era como Antunes. Cheirava a mercearia. Talvez Sócrates. Ou Platão. Platão!... Latão!... Sócrates era melhor.
E fiquei toda a noite a namorar a Lua, esquecido de mim e da minha espada.
95
Final bonito. Por baixo: Sócrates.
Dera-lhe trabalho, aquele final. Para rimar com amada havia mais de cem nomes. Caminhada, tomada, salada... Mas espada é que dava bem. Tom heróico, cheiro de sangue das batalhas.
Namorar a Lua toda a noite era boa lembrança. Versos que não falassem em Lua, não eram versos. E então com aquele título: "Adoração." Por cima, "Manjar dos Deuses". Comida
dos deuses. Os deuses a comerem os seus versos. A comerem a Lua e a espada. Parecia uma ideia burlesca, mas não era. Os deuses comem o que lhes apetece.
O Rocha arrumou o escadote e encostou-se à tulha do açúcar. Lembrou-se da Lídia, a costureira do Lopes, toda roliça e pequena, olhos negros brincalhões e carrapito farto.
O Sr. José só tinha ali o corpo. Senão já estava a barafustar, descobrindo a mudança.
Silêncio de igreja. Moscas em ladainha.
Do armazém, de longe em longe, um brado quase indistinto. O moço e o marçano, esquecendo hostilidades, pegavam nas sacas de sêmea, punham-nas na pilha e recomeçavam a conversa.
Seu Isidro falava numa mulher que tivera e lhe abalara.
- Tirei-a daquela vida. Estava numa casa com mais quatro...
- A fazer?
- À espera dos homens que chegassem. Tu não sabes?
O outro não sabia. Era a primeira vez que lhe falavam naquilo. O João da Mouca ensinara-lhe tudo. Mas nunca lhe contara que havia mulheres que esperavam os que quisessem fêmea...
- É assim como uma loja...
96
- É quase.
Ficou-se a desejar uma mulher daquelas. Começava a sentir-se homem. Sonos interrompidos e agitados. Respondiam-lhe, às vezes, os gemidos do Seu Isidro, do outro canto.
- Começámos a gostar um do outro. Falei-lhe em a gente se juntar. Disse-me que sim. Levei-a comigo. Éramos como marido e mulher. Trabalhava no cais e ela ia-me levar o almoço
num cesto. Comíamos juntos e ela abalava. Andava com ganas na descarga. Logo que pudesse, havia de comprar uma cómoda. Um dia não veio...
Viu-lhe tristezas nos olhos. Descaiu-lhe o corpo, pondo as mãos nas coxas. História nova para si. Tão bom companheiro, o Seu Isidro, e sempre a rir-se com ar de troça. Agora
estava triste e a sua voz era um murmúrio.
- Larguei o trabalho. Pensei que estivesse doente. Era fraca. Os homens costumam bater naquelas mulheres quando querem. Ela queixava-se do peito. Contou-me tudo. Foi um qualquer
que a moeu a pontapés. Depois não comia sempre... Passei a gostar mais dela. Abalei para casa quase a correr.
- Já não estava?...
Seu Isidro não respondeu.
- Vamos lá a isto!
Pegaram numa saca e começaram outra pilha. --Nunca mais a viu?...
- Não, e ainda bem. Custou-me mais que se fosse minha mulher. Nunca mais quis outra. Fiquei sem fé... No cais não me largaram. Peguei-me duas vezes com companheiros. Desandei.
Deitei aqui.
As bochechas de Seu Isidro tinham desaparecido. Ficaram-lhe na cara só os olhos - olhos tristes a brilhar aguas. Teve vontade de lhe pôr a mão no ombro e dizer-lhe qualquer
coisa que o animasse.
97
- Não era bonita. Nunca tive dinheiro para essas. As mulheres começam de cima e vêm até cá abaixo. Aquela tinha descido tudo. Mas fez-me pena... Era assim uma vida como a
minha. Vida irmã. Também fui descendo. E ainda hei-de descer mais.
- A gente desce sempre, Seu Isidro?!...
- Contigo pode ser outra coisa. Vais a meio-caixeiro depois, como o Seu Zé, e podes ir a patrão. Quase todos lá chegam. Agora trabalho de braço é como trabalho de burro. Enquanto
a gente carrega bem, não falta quem queira. Mas quando um homem se começa a ficar, tem de ir para vadio.
- Coisa mal feita.
- Quando te puseres a subir, não achas isso mais. Dizes que é assim mesmo, que é assim desde o princípio do mundo. Quem não serve, rua! É o mote de sempre. Daqui por dez anos
já tu não ouves os moços. Já não ficas a escutar os que as mulheres deixaram. Vida de pobre diabo não te toca as solas. Dá-te vontade de rir.
- Isso não, Seu Isidro.
Pôs a sua mão na do marçano.
- São todos assim. Eu cá julgo que é da altura. A gente sobe, sobe... E os olhos cegam-se para baixo. Às vezes, quando se anda, pisam-se os outros que não puderam subir. É
como eu com as formigas aqui no armazém. Não reparo no seu caminho e mato-as sem ver que andam na sua vida. Nos homens, há formigas e há homens. Eu tenho de ficar formiga.
Tu tens jeito de subir. Sei lá se ainda me vais pisar. Eu ria-me de ti e chamava-te nomes. Estava a tirar desforra do que me vais fazer. Mas tu é que ganhas...
Os olhos foram-lhe desaparecendo no rosto. As bochechas devoraram-nos. Cara de faz-tudo sem zarcão. Cara de rato-cego.
98
Seu Isidro não podia jogar à choca, como os rapazes da rua, nem mesmo talvez soubesse molhar ou roer. Mas aquela história da mulher que esperava os homens que chegassem era
um mundo novo para si. Seu Isidro dissera que ela não era bonita. Nunca tivera dessas. E abalara-lhe.
O moço perdera a fé e não confiava em mulheres. Unira-se àquela, iludido na semelhança dos seus destinos. Fizera um sonho. Um sonho sempre presente nas amarguras da vida do
cais. A hora do almoço ficava-se a esperá-la, sentado ao sol. Ela vinha, de cesto na mão, trazer-lhe sorrisos. Tinham diálogos de olhos e de mãos. Não era bonita. Deixara
as pinturas de boneca de trapos e o seu rosto era lívido, trilhado de rugas. Mas elas eram como os cansaços do seu corpo nos dias de descarga. Davam-lhe a certeza de que ficaria
para sempre.
Naquele dia chegaram as companheiras de todos. Abriram os cestos e comeram juntos. Só ela não veio. Ficou-se a esperá-la ainda. Algum atraso do lume ou conversa no caminho.
-A Tia Assunção viu a minha Ema?!
Não a vira, nem dera por ela toda a manhã. Inquieto.
O capataz chamou ao trabalho e as mulheres abalaram. As lingadas balouçaram no espaço e as pranchas estremeceram.
Ficou sentado, sem compreender os gemidos dos sarilhos, nem as exclamações dos camaradas. A sua hora de almoço não chegara. Olhos vazios de imagens.
Nunca mais se sentou ao sol. Passou a comer na taberna. Os cestos e o traquinar das colheres nos tachos confrangiam-no. O cais transformara-se. As gargalhadas dos companheiros
levavam-lhe hostilidades.
Contara tudo ao marçano. Ele sabia agora da sua vida e já não lhe podia chamar saloio, nem rir das suas queixas. Oferecera-lhe a vingança. Mas não tinha mais alguém a
99
quem pudesse contar as suas mágoas. Aquele não diria consolos, nem saberia compreendê-lo. Também não tinha gargalhadas.
Arrependia-se agora de lhe ter falado. Aquilo voltara-lhe e enchera-o. Sentira a cabeça pesada e o corpo abatido. Desejo de dizer tudo e libertar-se. Como um peso que lhe
tirassem do peito.
O marçano pôs-se a pensar na mulher que não era bonita. E a história de Seu Isidro pareceu-lhe sua. Pusera-a nos joelhos e beijara-a. Depois foram juntos. Via-lhe o rosto.
Sentia-lhe as mãos.
E o rosto era da Alicinha. Daquela menina que passava para a lição de piano e tinha canudos loiros com duas fitas azuis. Vinha sempre à mesma hora e ele espreitava-a quando
podia.
Levara-a consigo. Quando tivesse dinheiro, compraria uma cómoda. E a Alicinha não abalaria como a rapariga de Seu Isidro, porque ele mesmo dissera que começaria subindo. Sempre
de canudos loiros com duas fitas azuis, a subir também.
Nasceu-lhe uma dúvida. Talvez o moço soubesse.
- Seu Isidro!...
- Que é?
- Se vossemecê subisse, ela tinha-o deixado? Encolheu os ombros.
- A filha do Ferreira bateu asa ao marido e ele tinha...
Antes de a sentar nos joelhos, perguntaria se era capaz de fugir. E como ela lhe respondesse, assim faria. Alicinha encostada ao seu ombro a falar...
- Seu Isidro! De que falava vossemecê com a Ema?...
O moço rebentou numa gargalhada que encheu o armazém e acordou o primeiro-caixeiro, dos seus versos.
Corou. Pôs-se a puxar uma saca. Estava mesmo a pressentir temporal.
O Sr. José veio que nem um rabo de vento e pôs-se a bramar. O moço embezerrou e ajudou-lhe à saca. A porta bateu.
Diálogo entre dentes.
-Que é que lhe deu vontade de rir, Seu Isidro?
Seu Isidro a fungar. Cara de bochechas. Cara de rato-cego.
- Tens cada uma! Falava-se de tudo e no fim não se dizia nada. Coisas de quem anda bêbedo.
Alicinha a falar e a não dizer nada. Não percebia. Quem fala, diz. Seu Isidro virou o miolo com a Ema. Não diz coisa com coisa. Seu Isidro está parvo.
O Rocha foi para trás da armação e sentou-se a fumar um cigarro. Tinha a Lídia junto dele, com os seus olhos brincalhões a fazerem-lhe promessas.
O primeiro-caixeiro pensa na página dos versos e acalenta a esperança de fazer um livro. Um livro para todas as raparigas lerem. Versos que trazem no cesto da costura, entre
as folhas do missal e aconchegados ao peito.
E fiquei toda a noite a namorar a Lua...
As moças viriam à janela para ver o seu namoro. Para ouvir as palavras que a Lua lhe dizia. Mas nenhuma podia perceber o seu idílio. Poeta tem palavras que ninguém ouve, nem
outros sentem.
Ou aqueles do castelo:
Mandei fazer um castelo por sobre as águas do mar... Um castelo feito de beijos...
101
Ao deitar, e em vez do padre-nosso, as raparigas rezariam os seus versos. Benziam-se. Cerravam os olhos, baixavam a cabeça e punham as mãos no peito. No peito rijo, porque
só as donzelas saberiam os seus versos. E entre lábios, como a ensaiar carícias:
Um castelo feito de beijos para os teus olhos guardar.
Nos seus sonhos aquele sonho de poeta. O mar azul, sereno. Um castelo. Castelo de beijos. Um castelo vermelho, porque os beijos são vermelhos. E as ameias eram beijos interrompidos.
Uma espécie de beijos aos saltos.
Castelo sem portas para ninguém lá ir. Nem mesmo o bafo do mar, nem mesmo as canções do vento. As ondas fariam franjas à volta do castelo. Franjas brancas.
Ouviu passos. Nem alçou a vista. O Rocha atenderia. O pior era se metia balança e o traquinar dos pratos lhe cortava o fio da imaginação.
O meio-caixeiro recostara a cabeça num fardo de bacalhau e atirava baforadas de fumo que seguia com os olhos. Estava decidido. Quando a costureira viesse à loja, entregaria
o bilhete à socapa. Os dois enleados sem saberem que dizer.
Os passos que chegavam eram frouxos. Parecia o silêncio a andar. Fungaram. Voltou-se.
Atirou o cigarro ao chão e ficou como se tivesse entregue o bilhete à costureira. Mas a costureira tinha a cabeça do Seu Antunes. Cabeça a acenar.
- Regabofe!...
O primeiro-caixeiro deu um salto, amarrotou o papel e meteu-o na algibeira do guarda-pó. Branco que nem doente do peito.
102
- Patrão fora, dia santo na loja. O Sr. José não vê isto? Para que o tenho cá? Podia roubar o que quisesse, que ninguém me ouvia.
E acenava a cabeça. Fala de tosse.
- Numa loja há sempre que fazer.
Foi-se chegando, mas não dava palavra. Um tremor no corpo.
O Rocha escapou-se por detrás do patrão e pegou no pano de limpar as vitrinas.
- O senhor escrevia... Este fumava... Regabofe!... E meteu pela porta do armazém. Os dois caixeiros
ficaram a encolher os ombros.
- Ora você, Sr. Rocha. Distraí-me a fazer umas contas...
O moço e o marçano tinham ouvido a bramação e deitaram-se ao trabalho. As sacas iam ligeiras nas mãos de ambos. Seu Antunes a tossir.
- Ainda isso não acabou?! Há uma hora! Serviço de dez minutos! Não posso sair daqui, está percebido. Não posso tratar de nada. A minha vida presa.
O Pacheco tinha-lhe ganho três licores e quatro bolos de amêndoa. Dois prejuízos. O pessoal na languice e ele na Flor da Praça a perder ao gamão. Para dar cabo de um arranjinho
era quanto chegava. Felizmente que não jogava por vício.
- Isto acaba!...
A sacaria já se empilhava toda no outro canto.
- Tu vai lá para fora! E tu?!...
O moço olhou à volta. Tudo arrumado. Armazém varrido.
- Não tens que fazer? Arranja-se sempre. Essa sacana para o mesmo sítio.
103
- Para ali?...
- Pois claro. E amanhã, se não houver que fazer, vai para acolá outra vez.
- Ó Francisco!...
--Qual Francisco, nem meio Francisco! Passa isso sozinho. Tens bom corpo.
Arrastar de pés. Pigarro. Braços pendidos.
- Corja de langões! Voltou-se.
- Traz uma saca daí e o tabuleiro. O moço a segui-lo.
- Agora tudo corre e ninguém faz nada. Boa gente leva o duque!
Foi para o lado das tulhas. Acenar de cabeça. A língua a agitar-se, como para molhar as palavras.
- A medida grande.
O Rocha trouxe-a apressado.
- Mede uma de grão... --Outra de milho...
-E outra de feijoca...
- Outra de feijão. Tu, fecha a boca à saca. Agarra-lhe ali daquele lado e sacudam bem.
Os dois como a crivar. O Sr. José, trémulo, de olhos inquietos.
- Já chega. O tabuleiro no balcão e isso para dentro.
Mistura colorida. Passou-lhe a mão de garra para juntar melhor.
"Assim é que se faz."
- Numa loja há sempre trabalho! Se não há, inventa-se. O freguês nunca deve ver ninguém parado. Parece-lhe a loja um cemitério... Rocha e Francisco, escolher isso tudo! Tu,
passar a sacaria!...
Arfava, cansado de falar alto. Compôs o boné.
104
Os dois, de cabeça baixa, a escolher. Trabalho para todo o dia. O primeiro-caixeiro, desorientado, de um lado para o outro.
- A nota do rol está pronta, Sr. José?
- Sim, senhor.
Foi à secretária e entregou-lha. Quis dizer qualquer coisa para afastar o temporal.
- Estão aí uns nomes...
- Cães é que são!... É fiar... fiar... Empandeiram uma loja que é um foguete, se a gente vai a dar corda.
Meteu a nota no bolso.
- Faça outra. Sr. José.
- Outra?!...
- Então! Que pasmo! Uma nota igual... Sim... Uma nota!
Estendeu a mão.
- Que quer?
- Essa, para copiar. Cara sem expressão.
- Não é isso!... Outra feita pelo livro. Voz pausada como a moer. Pigarro.
-- Eu depois confiro por esta.
E bateu no bolso. O outro voltou-lhe costas, aos trejeitos, e foi sentar-se, a desfolhar o livro de fiados.
105
Mundo novo
AS balanças não paravam. Os corredores não tinham descanso. As medidas e as rasoiras sem tréguas.
- Isso pra D. Antónia, bem pesado. Oiro em fio que eu não quero queixas. O Matos anda de espreita e não pára de desafiar freguesia.
Relações à frente, o Sr. José e o Rocha aviavam. O cesto da distribuição à espera. O marçano a arrumar as latas de bolos.
Quinta-feira. Dia de carregos e de subir escadas. Dia de chegar à noite com as pernas gastas. Os outros ficariam na loja a sorrir e a agarrar as mãos das criadas. O moço,
no armazém ou a fazer despachos. Seu Antunes, a molhar os ralhos com a língua e a queixar-se da bronquite. Daí a bocado, o Sr. Sousa viria falar dos Persas e de Saturno, com
o seu ar superior de sabe-tudo.
O primeiro-caixeiro gritou-lhe. Teve vontade de fingir que o não ouvia e continuar passando as caixas para cima da tulha.
- Acabo isto?...
- Larga! Já num foguete à D. Antónia.
106
Cesto cheio. E logo àquela, que nunca dava cinco-réis. Nem cinco-réis furados pelas broas. Fona e rabugenta não havia outra. Se, ao menos, fosse como a cozinheira do juiz
que dava pão com carne e a sua fruta...
As maçãs e as peras lembravam-lhe muito. Mais do que a Branquinha com o seu guizo irrequieto. Fruta só para os caixeiros. Ele e o Seu Isidro comiam na cozinha e não venciam
mimos. Ao jantar ou se bebia um copo de vinho ou se bebia café. Era a única coisa que podiam escolher. Mas um anulava o outro.
Agora custava-lhe menos a suportar aquilo, depois da terça-feira em que o Seu Isidro lhe dissera que viria a subir. Começava a acreditar nas palavras do pai. Assim a modos
como na escola. Principiar pela cegarrega do á-é-i-ó-u até chegar ao mapa e ao livro de leitura. O pior era se no fim sucedia como no exame. Nem ele, nem o Sogas, nem o Verde.
Só o Mosca Morta e o filho do Sr. Vicente. Selo de vinte e cinco tostões.
O Rocha deu-lhe ajuda ao cesto. O patrão veio bramar à porta que não ficasse a "olhar navios", porque depois as orelhas lhe pagavam. Mania das orelhas, o Seu Antunes. Se fossem
de crescer com puxões, já as teria descaídas como os burros. Por tudo e por nada orelha retorcida.
Às vezes dava-lhe de embirrar. Fazia de pirraça. Já sabia onde se jogava à choca e abalava até lá. No adro da igreja, algumas seis rodas e a algazarra vinham buscá-lo ao caminho.
Os rapazes conheciam-no. Eram bons companheiros. Começaram de olhá-lo à banda, mas foram-se habituando com ele. Um dia foi convidado e roeu o jogo todo. Não tinha olho nem
ligeireza.
Foi para lá às duas horas e só ouviu as quatro. Largou a choca e deitou a correr. Seu Antunes viu-o suado e vermelho, e quase se partia aos berros. As orelhas e a cara pagaram
a demora.
107
Sempre que lhe dava de fazer ferro velho, ia até ao adro. Hoje, se não fosse um palpite, eram favas contadas.
- Fica a ver as moscas que depois tas sacudo das orelhas.
Dava mesmo vontade de se perder no jogo. Era paga" com paga. Mas ouvira falar no juiz e se calhar tinha avio. E ali apetecia. A cozinheira nova dava petisco. Pão com carne
e a sua fruta. Sempre que a comia, lembrava-se de casa. Da Rita, do pai e da mãe. A Rita devia estar quase mulher. Era mais alta que ele. Tinham-lhe dito numa carta que já
olhava para a sombra e algum dia arranjava moço. Era graça que não devia andar longe. Ele deitara um pedaço de corpo e ela era mais alta. Se lá fosse agora, não se pegaria
com ela por mor do alguidar, nem das ovelhas. Daria volta a tudo. Ficaria defronte dos pratos a lembrar-se do passado. Deitaria até à serra com a sua funda e as pedras zuniriam.
De lá podia ver o rio azul e as velas vermelhas. A Branquinha a grazinar com o seu guizo, já de cria atrás. E de novo a sua flauta a juntá-las à volta. Sabia ainda todas as
músicas. Parecia-lhe até que as tocaria melhor. E a marcha da fanfarra gostaria de a experimentar na flauta.
Pôs-se a assobiar. A ponta de cesto roía-lhe o ombro.
Comia por vinte, aquela D. Antónia. Chá do melhor. Arroz do melhor. Tudo oiro em pó. Ainda se roubassem no peso, como faziam aos outros, o carrego pesaria menos. Mas assim...
Caminho a subir. Pediu ajuda para arriar o cesto. Encostou-se à parede, a limpar a testa com a manga da jaqueta.
Já pedira ao Sr. José um casaco velho e só promessas. Também era forreta. Aquele qualquer dia estava patrão. Ouvira uns ditos no ar... O Seu Antunes é que ficava de
108
pólvora. Piorava da asma e lambia mais as palavras. Lá iam mais uns degraus, como o moço dizia.
A caminho. Até à quinta um estirão. Tudo a amarinhar. Derreado daquele ombro e o outro já tocado. Era como se os tivesse feridos. Duas chagas vivas. Mão na borda e olhos no
chão. O respirar assobiava.
Ao jantar, feijão frade com massa. Um copo de vinho ou café à escolha.. Os mimos eram para os que comiam na casa de jantar. Só se lavasse a loiça, podia lamber algum resto.
Seu Isidro já não lhe chamava maricas. Mas mesmo que chamasse, isso não lhe dava perca. Lembrou-se de um dito do pai: dá-me nomes, mas trata-me bem.
É a casa mais alta da vila. Tem dois andares e vê-se de todos os lados. Só a torre da igreja se lhe avantaja, mas não se descobre tão bem, porque fica num plano mais baixo.
No segundo andar mora o juiz. Está ali como que para velar as acções dos homens. Tem uma varanda donde se debruça pela manhã e que domina os telhados e as ruas. O repenicar
dos sinos da igreja tem de subir para lá chegar.
O Sr. Doutor é viúvo. A esposa morreu-lhe há sete anos com um mal no coração. Tem consigo a Sr.a Zulmira, que faz todo o serviço da casa, mas que se conhece como cozinheira,
porque em todos os lados ele lhe gaba os méritos dos pitéus. A Sr.a Zulmira ganhou prestígio com a escolha do juiz e ninguém lhe toca na reputação. O doutor é pessoa de respeito
e de bom gosto. E a criada só conheceu um homem em toda a sua vida: o João Pinheiro, que vivera dela e abalara para o Brasil, com promessas de a, mandar ir. Ganhou-lhe o dinheiro
da viagem e nunca escreveu uma letra.
109
Chorou-o por muito tempo, como se ele tivesse morrido. Deitou luto e não quis outros homens. Alguns lhe rodaram a saia, porque a Sr.a Zulmira tinha fama de granjear mealheiro.
Não porque fosse mulher de espevitar vontades...
Era alta e desajeitada. Corpo seco como um madeiro. Na sua rua chamavam-lhe a Zulmira Grande. Olhos pequeninos de morcego, nariz adunco e boca rasgada sem lábios. Um tique
constante no rosto fazia-lhe piscar o olho esquerdo e torcer a boca. Cabelos ralos e escorridos lambiam-lhe a testa, apartavam-se a meio num risco bem vincado e uniam-se atrás,
na nuca, num carrapito pouco maior que castanha. Andava aos pulinhos, a saltitar, como se receasse pisar o chão, bamboleando os braços magros, que mais pareciam pregados a
elástico no seu busto sem saliências. Falava às golfadas, atropelando palavras, numa voz gemida que ganhava, por vezes, estridências agudas de gritos reprimidos.
O doutor juiz dizia que ela perdera o charme emprestando-o aos acepipes que lhe preparava.
Se não fossem os nacos de carne com pão que a Sr.a Zulmira dava, o marçano ficaria no adro a jogar com os outros. Estava lá o Liques e o Mira-Olho, dois companheirões mais
sabidos que o João da Mouca. Batoteiros no botão, outros não havia para ganhar chapanas. E na choca e na bilharda nunca roíam, porque tinham lume nos olhos e azougue nos braços.
- Ó Chico!
- Ô Chico da Loja!
Acenou-lhes com a mão e continuou a passo aberto.
Ele era o Chico da Loja, porque havia outro Chico no adro - o Chico Morde-Orelhas. Um desalmadão que parecia o pai de todos e não parava em oficina. Começara três ofícios
e em nenhum aquecera.
110
- Eh, Chico!... Vais nas horas!
Os outros riram todos. O Liques ou o Mira-Olho tinham dito alguma das deles. Mas agora não tinha folga para lhes dar trela, que o Sr. José já acabara, pela certa, o avio do
juiz.
O patrão arregalou os olhos quando o viu entrar, limpando o suor do pescoço. Da brincadeira não era, que o tempo não podia sobejar. E ficou pensando que o respeito é uma grande
coisa para meter rapazes a direito.
Arriou o cesto. O Rocha foi-lhe passando os pacotes, enquanto o primeiro lia a relação para conferir.
- Quinze parcelas. O Rocha contou.
- Está certo. Deu-lhe mão à carga.
"Vai num pé e vem no outro."
Agora mais devagar. Lá ir depressa... Quando a Sr.d Zulmira lhe desse o naco, havia de descansar na escada e comê-lo. Depois uma volta pelo adro. Estava a meter-lhe engulhos
aquela risota. Graça do Liques ou do Mira-Olho.
Roer um bocado até ganhar o pau. Desforra pronta. Choca no ar a querer cheirar a roda e logo para casa do diabo com toda a gana.
"Vai num pé e vem no outro."
Orelhas até à boca depois, mas havia de folgar. Que de madrugada à noite não era só ouvir e amolgar no trabalho.
Encostou o cesto à parede para aliviar o ombro. Meteu-lhe o lenço por baixo a fazer de rodilha.
Dia de chegar à noite sem pernas e de costas derreadas. Já via a varanda de sangue-negro a cintar o cor-de-rosa das paredes. Janelas fechadas. O Sr. Doutor não estava.
111
Se estivesse, pôr-se-ia de varanda a gozar o sol da tarde, e a ver os campos.
Faltava amarinhar a calçada da fonte e as escadas. Sentiu um bicho a roer-lhe no vazio. Lembrou-se da Sr.a Zulmira. Cesto ao ombro, calçada acima. A ferida sem ardências.
As pernas mais ligeiras. A boca num sorriso. Os olhos num clarão. Assobiou.
Passo ao som da marcha. Um bico entrou-lhe nas costas e saiu à banda do coração. Reprimiu o respirar. Depois largou-o aos poucos e o bico não voltou atrás.
A Tia Vicência passou por ele e deu-lhe as boas-tardes. Respondeu-lhe distraído. O assobio a acompanhá-lo, adormecendo-lhe o ombro.
Via-o de alto a baixo. Não havia outro maior - quase a tocar o céu. Lá em cima os nacos de carne com pão e fruta. A Sr.a Zulmira com o seu andar pulado, voltando da cozinha.
Mão de ossos estendida. - Come, anda.
Olhos a piscar e boca arrepanhada àquele lado. Tremuras nas mãos. E abalava com suspiros.
A Sr.a Zulmira tinha desgosto agarrado. E desgosto grande. Falou ao moço e contou-lhe a ida do João Pinheiro para o Brasil. Agora, quando a ouvira suspirar, lembrava-se sempre
daquilo. São coisas que se agarram às pessoas e nunca mais as largam. Como carraças em pêlo de cão. Também ele ficara moído com saudades do casal e da família, e lá ia andando.
O que faltava à Sr.a Zulmira era uma pessoa com quem pudesse desabafar. Alguém que tivesse qualquer coisa irmã na sua vida. Que isto de queixas contadas a quem as não tem
é como bramar ao vento. Se ela quisesse dizer-lhe
112
tudo, saberia compreendê-la. Esquecerem-se ambos do abismo do tempo aberto entre eles, e ficarem, mãos-com mãos, pesares com pesares, a acalentarem-se.
- Ouve, Francisco.
E a sua voz gemida a desfiar saudades.
Se soubesse onde o João Pinheiro se metera, havia de lhe escrever uma carta bem notada, de meias com o Seu Isidro.
"Sr. Pinheiro, não há direito. Coisa ruim, essa de abalar sem dizer água vai. Deus vai castigá-lo. E com o castigo de Deus não se brinca."
Talvez lhe contasse o que se passara consigo. Um selo de dois mil e quinhentos para fazer exame. E, afinal, pôr a língua de fora quando o professor se voltava, não era tanto
de mal como deixar a Sr.a Zulmira sem mais aquela.
Encostou o cesto à ombreira e levantou a vista. Dali, o prédio estava tombado e os bicos dos beirais enfiavam no azul do céu. Esmagava toda a rua e tomava jeitos de se deitar
sobre as outras casas - sobre as casas que o olhavam cá de baixo e não tinham varanda que se debruçasse nos telhados, nas ruas e nos homens que passavam.
Compreendia agora as palavras do Seu Antunes, numa tarde de conversa com o Sr. Juiz e o Sr. Sousa.
- Deus lá em cima e o Sr. Doutor cá em baixo. Se não fosse a justiça...
O juiz acenara a cabeça a confirmar e juntara que "procurava guiar-se sempre pelas palavras do Divino Mestre".
Por isso ele morava no prédio mais alto. Dali escutaria os conselhos do Pai do Céu, para cada caso que tivesse de resolver.
Vizinhos. Pai do Céu e pai dos homens. O Sr. Doutor mandava homens para a África. E esses nunca
113
mais entrariam lá em cima quando morressem. Iriam para o Inferno pagar as suas culpas.
Escada alta. Chegavam mais depressa às estrelas os que fechavam os olhos para sempre e nunca tinham ido à presença do Sr. Doutor. Escada de quatro lanços e quatro patamares.
Puxou o cesto para o ombro. As brochas das botas ressoaram no azulejo em ecos agudos. O corrimão daria ajuda. Sons cavos agora. Primeiro lanço. A mão solta no balaústre a
achar impulsos. Escada de silêncio. Quem subia, andava em bicos de pés. Mas as suas botas batiam na escada como martelos. Talvez não fosse das botas. É que o coração batia,
batia...
Era o seu baque que martelava os degraus. Pancada no peito, pancada na escada. Os cansaços não vêm a pedido. Seu Antunes é que tinha culpa.
Pernas mais frouxas. Passos mais lentos. O coração a galope. Coração na boca. Riscos de cores nos olhos quase cerrados. Cores enroladas e girando à sua frente, como o disco
da roleta da Semana Santa.
Sentou-se no último degrau. Pendeu o ombro e o cesto resvalou-lhe da mão. Uma pancada. Cabeça entre os dedos. Um zuído nos tímpanos. Um amargo na boca.
Escada de silêncio.
Foi-se o coração aquietando e o corpo perdeu abalos. Limpou o suor da testa. Olhou a porta. Para lá, nacos de carne e fruta. Cansaço bem ganho.
Os nós dos dedos fizeram sons. Apurou o ouvido. Uma carroça passou na rua e esmagou-lhe a atenção. Entre dentes, disse uma praga. Bateu de novo. Vieram passos. Mas os passos
fizeram uma surriada, porque abalaram.
- Surda!
Vontade de gritar até a Sr.a Zulmira vir. E depois dar desculpas.
114
Levantou-se, abrindo a boca e juntando os punhos na nuca. Bocejo ruidoso. Ficou mordendo o beiço de arrependido.
Dedos na porta. Mais força. Orelha encostada. Um
sorriso e um aceno.
- Mercearia!
Esfregou as mãos. Os passos vieram crescendo aos poucos e cobriram a sua ansiedade.
- Quem é?!...
Voz coada pelo ralo.
- Mercearia!
Volta de chave. Pareceu-lhe que a chave lhe abria o estômago. Sentiu-a em todo o corpo.
Pegou na asa do cesto e puxou-o para cima do joelho flectido. O rosto da Sr.a Zulmira, com os seus tiques, surgiu num gemido dos gonzos. Palavras em hemoptises.
- Julguei que não viesses. Bateste muito tempo?
- Duas vezes. Sentiu-se corar.
- Estava lá para dentro, na lida. O Sr. Doutor é muito miúdo no arranjo do quarto e do escritório. Um santo, mas todo pontos nos ii.
Sorriu-se. Os olhos pequeninos da Sr.a Zulmira postos nos seus.
- Tenho sempre a porta fechada. Há tanto mariola! E depois já a cair a noite... O Sr. Doutor não está.
Voz mais esganiçada. As mãos trémulas compuseram os cabelos escorridos.
- Se me fizesses um favor...
Para ela eram obrigações. Ficou contente de a poder servir. Sempre uma lembrança para lhe dar e bom modo. Não havia outra casa mais farta. A D. Antónia tinha carro com mulas
e era uma fona. Nem cinco-réis pelas broas, "em um bolo pelo Ano Bom.
115
Entrou com o cesto. Ela fechou a porta.
- Desculpa, mas ando muito fraca. Não posso com uma gata pelo rabo.
- Ora essa!... Ela suspirou.
Veio-lhe à memória o João Pinheiro. Se soubesse onde ele estava, havia de lhe escrever. E contar-lhe aquele cansaço da Sr.a Zulmira e os seus suspiros prolongados. Homem sem
coração!
A luz da tarde mal entrava pela janela. Frouxa e triste. Coisas apagadas sem relevo. O lume do fogão tinha mais presença naquela penumbra. A cozinheira parecia mais alta e
seca. Mal lhe adivinhava a cara, que perdera os tiques. Só os seus olhos pequeninos ganhavam brilho e inquietação. Viu-a de um lado para o outro sem perceber o que queria.
Depois arrastar um banco, chegá-lo para o armário e subir.
- Chega-te aqui, fazes favor. Aproximou-se. Foi-lhe passando os cartuchos.
Nem palavra. Sentia-lhe as mãos pegando nas suas. Mãos secas. Olhos nos seus olhos. Não via o banco e a Sr.a Zulmira fizera-se maior ainda. Quase tocava o tecto.
Suspiros. Ouvia-lhe a respiração apressada.
Se ela não o achasse rapaz, falava-lhe nos seus desgostos. Pedia-lhe que dissesse tudo. Contar mágoas faz bem. É um peso que sai de cima.
-- Sr.a Zulmira!...
Não lhe respondeu. Tudo noite. Só sentia as mãos tocando nas suas e levarem os embrulhos. Bater de pratos.
- Já tens rapariga?
Teve um sobressalto, como se lhe estranhasse a fala. Como se fosse a escuridão que lhe fizesse a pergunta.
- Tem cuidado!... As raparigas novas... Lembrou-se do Seu Isidro e da Ema.
116
- Sou muito moço ainda. Vagueou a mão pelo cesto. Vazio.
- Está tudo, Sr.a Zulmira. Quinze parcelas! Ela desceu. Viu-lhe os olhos mais inquietos. -
- Senta-te aí. Vou buscar o candeeiro. E depois comes alguma coisa.
Quis dizer-lhe que não se incomodasse. Mas o estômago tapou-lhe a boca. Aqueles passos pelo corredor ficaram a desdobrar-se.
Foi à janela. Luzes a acenderem-se - nas casas e no céu. Àquela hora já os companheiros tinham acabado com o jogo e estavam a contar das suas. O Liques sabia coisas sem fim.
Levara muita carta e tinha muito segredo de gente boa. Nunca dizia os nomes, mas falava no resto. Os outros ficavam com aquele ralé.
- Diz, pá!
- Segredo!...
Respondia com ar de mistério.
Segredo do Liques era como segredo do Seu Antunes. Alma do negócio.
- A gente vê-as passar por aí com carinhas de santas... Chapeladas... e eu a rir-me. Marafonas como ratas. Mas deixam dinheiro pra tabaco.
E puxava a sua fumaça. E o cigarro passava de mão em mão, porque o tabaco do Liques era de todos.
Passos no corredor. Volveu a cabeça. A Sr.a Zulmira, de candeeiro na mão, sorria-lhe de lá. Avançava a saltitar, como se temesse partir o sobrado. A luz lambia-lhe o rosto
de um clarão pálido.
- Senta-te, anda. Gostas de canja?
Já não lhe punha boca depois do casamento da prima Emília. Entendeu que a melhor resposta era calar-se.
-O Sr. Doutor vem mais tarde. Chega na diligência de Santarém.
117
E foi ao armário tirar um prato.
O fumo da sopa ofuscou-lhe os olhos e aqueceu-lhe
o corpo. Meteu a ponta da colher à boca e pousou-a
de novo.
- Feita ao lume, hã?!
Ela puxou um banco e sentou-se-lhe perto. Os joelhos tocaram-lhe. Mais do que os joelhos ele sentia os seus olhos irrequietos. Não levantou a vista. Olhava-a por baixo e via-lhe
as mãos magras a tremelicar.
- Já tens rapariga? Abanou a cabeça.
-Tem cuidado!...
Silêncio de palavras. O traquinar do prato.
- Quantos anos é que me dás?
Encolheu os ombros. Depois entendeu que devia dizer
alguma coisa.
- Quarenta e cinco.
Voz magoada. Palavras gemidas.
- Tenho trinta e oito. Já estou Velha. E ainda me
dás mais...
Olhou-a de frente. A cabeça pendida. O olhar vivo apagado. A boca desbotada.
Agora é que ia ouvir todos os seus pesares. Saber bem a história do João Pinheiro. Mas os lábios não se moviam e mal se desenhavam por baixo do nariz adunco. Teve desejos
de lhe aconchegar a mão trémula e dizer-lhe consolos.
"Sr.a Zulmira! Então, o que há-de fazer?!... A vida anda sempre torta com a gente e a gente tem de ter paciência. Eu também cá vou com as minhas. O Seu Isidro teve a Ema e
ela abalou-lhe. Quem sabe se foi ter com o João Pinheiro?..."
Viu-a erguer-se num repelão e desaparecer na despensa. Pareceu-lhe que a soluçar - mas não lhe ouvia os soluços.
118
Mexer de loiça. Apurou o ouvido, curioso. A Sr.a Zulmira chorava para dentro. Por isso andava magra, consumida de penas.
- Francisco!
Voz de sussurro. Sentiu-se inquieto.
- Chamou?...
- Chamei, sim. Chega aqui...
Trevas. Os olhos ganharam hábitos e cresceram formas na escuridão. A Sr.a Zulmira lá no fundo, encostada a uma prateleira. Boiões e caixas em correnteza. Dois presuntos pendurados.
Acenou-lhe com a mão.
- Dás-me aqui ajuda?...
Caminhou indeciso a adivinhar os passos.
- É mudar esta caixa.
- Eu posso sozinho, deixe lá.
Fez que ele não falara e pegou no outro lado. Sentiu os seus olhos e o seu arfar. As cabeças tocaram-se.
- Obrigada.
-- Quer mais alguma coisa? Tenho de ir...
- Estou cansada. Espera um pouco...
E sentou-se na caixa. Aproximou-se-lhe. As mãos apertadas em arrepios. Viu-a cerrar os olhos e deitar a cabeça para trás. Respirar fundo e prolongado. Corpo em estertores.
- Está doente?
As mãos conduziram-no para a outra ponta da caixa. Sentou-se também. Ficou ansiante a vê-la. Estava como se tivesse um ataque. Gemidos frouxos e dentes fincados no lábio.
Chegou-se mais. Tocou-a.
- Sr.a Zulmira!
Subiu-lhe uma tristeza ao peito e aos olhos. Mas as suas mãos foram contaminadas de tremores. Sentiu-se agarrado. Corpo com corpo. E a boca molhada como a
119
querer devorar a sua. As mãos magras a tactearem-lhe as costas e a arrepiá-lo, como mão de gelo que lhe roçasse a pele.
-Não digas nada...
Subiu-lhe uma chama no corpo. A sua boca criou vida e compreendeu os lábios dela. Lábios que não eram desbotados. Uma sensação nova dentro de si, a enfraquecer-lhe os membros.
A cabeça caiu-lhe no seu ombro. Viu-lhe a mão descarnada a comprimir o pescoço e os olhos mais cerrados. Arrepios curtos. Afagou-a.
E os seus afagos não passeavam no rosto da Sr.a Zulmira. Estava com ele a Alicinha - a que passava para a lição de piano e tinha canudos loiros.
Ela falou-lhe. Não a soube ouvir. Pôs-lhe a mão nos cabelos e procurou as fitas azuis.
"Alicinha!..."
As mãos não o largavam. Deu-lhe um puxão e desceu a escada. A porta bateu.
Olhou o prédio e viu o céu. Estrelas da cor dos cabelos da Alicinha. Canudos loiros com fitas azuis. Abalar para o cais e sentar-se à borda do rio a ver os barcos.
Apalpou o bolso. Mais fruta que nos outros dias e carne com pão.
A Sr.a Zulmira dera-lhe tudo. Se soubesse onde estava o João Pinheiro havia de lhe escrever.
"Sr. João, não há direito."
Ele não era ingrato. Porque, largos anos que vivesse, lembraria sempre a Sr.a Zulmira, que lhe oferecera os beijos da Alicinha.
120
Universidade
TODAS as sextas-feiras se preparava o movimento dos
dois dias seguintes. No sábado e domingo a lufa-lufa começava ao abrir da loja, noite ainda, até se fechar.
Vinha a malta dos campos fazer o avio e as mulheres dali que se governavam da féria. As ruas ganhavam outra vida. Caravanas de burros e machos, com seirões ou alforges, tocados
a verdascas. Os homens deitavam à taberna a falar do trabalho e a escorripichar copos. Elas espalhavam-se pelas lojas a discutir preços e a encher os sacos para a semana.
O balcão não chegava. Um rio de cabeças. Discussões constantes por alcance de lugar. O Seu Antunes é que amainava tudo com o seu modo desfeito. Saltitava de uma ponta à outra
da loja a contentar mais de um. Os caixeiros iam larachando para matar demoras.
Comia-se de fugida, por detrás da armação. De pé e engrolada.
- Vou-me embora, Sr. José.
E deixava-se uma freguesa em meio para se começar no avio de outra.
- A gente assim zanga-se...
121
- Deixe-se lá de carinha n'água e mexa-se pra aqui, ande!
Mas vinham sorrisos com mais um dito e a nuvem passava. A gaveta tinha azougue. A campainha que o Seu Antunes lhe pusera tocava a todo o instante naqueles dois dias. Caminho
sabido. Dos saquitos das freguesas para ali. E o Seu Antunes não tinha bronquite aos sábados e domingos. As mãos em garra bamboleavam menos.
Para o moço e o marçano a azáfama começava na véspera. Encher tulhas e despejar sacas, trazer caixotes e empilhar fardos. A língua do Seu Antunes todo o dia que nem um chicote.
- Francisco, mexe-te.
- Isidro, mais depressa!
Os dois numa roda viva, enquanto na loja o Sr. José e o Rocha enchiam cartuchos de meio quilo e duzentos e cinquenta de açúcar e arroz. A balança pequena do armazém servia
também às sextas-feiras. Trabalhava nela o marçano. Pacotes de cloreto e potassa para não empatar os avios dos outros dois dias. Que para perder tempo com lavagens de mãos
bastava o petróleo e o azeite.
Era de todos os serviços o que mais gostava de fazer. O Seu Isidro a mourejar em qualquer coisa e ele à balança na mesa dos cartuchos. Tinha alucinações. Julgava-se ao balcão
a atender freguesas. Ouvia-lhes os ralhos e os pedidos.
"Vá lá esse peso... Que mãos de ferro vossemecê tem... E ele com o seu sorriso. Que mais?!... Uma quarta de manteiga. Dessa melhor."
Balança a trabalhar. Peso sempre igual, o da sua balança. Colher de pau a remexer o caixote e despejada no papel. Nem uma palavra. Uma praga do Seu Isidro lá de quando em
quando.
Aquele cheiro acre a entrar-lhe nas narinas e a esvair-lhe
122
a cabeça, como se tivesse apanhado ponta de ar. Mas era trabalho de caixeiro.
"Açúcar do mais clarinho. Veja o que me dá, Sr. Francisco."
Já escrevera ao pai a dizer-lhe que qualquer dia passava de todo para o balcão. Mentira que não fazia mal. Via-o de carta na mão a contar ao Manel Bolas e à Zeferina, e a
todos que encontrasse, aquela nova.
- O meu Francisco já pulou. Qualquer dia...
- Qualquer dia está patrão.
- Lá há-de ir... Lá há-de ir...
-O rapaz é esperto. Se sair a vossemecê... E a mãe e a irmã pelo seu lado espalhariam também a notícia.
- O meu Francisco...
Os dois candeeiros já acesos na loja. Luz frouxa e pálida. O moço ao pé dele a contar sacaria. A sua balança com o mesmo peso. Uma vela a alumiá-los.
Toda a gente saberia. Aos serões falariam nele com uma ponta de inveja. E o pai, mais pimpão que nunca, procuraria a conversa dos outros para falar dele. Era mentira, mas
o Seu Isidro dissera-lhe que começaria, a subir e esqueceria todos os Isidros que ficam moços para sempre. Isidros que não sobem - Isidros que descem em cada dia que passa.
O Rocha veio chamá-lo para varrer a casa. Largou a colher num trejeito de mau humor. Encheu a bacia de água e molhou o chão, salpicando-o com as pontas dos dedos. Seu Antunes
contava o dinheiro do apuro. Moedas em pilhas. Quando lhe passavam nos dedos, as moedas tilintavam.
Nunca tivera uma só. Marçano trabalha por favor e tem contrato por dois anos sem paga. Melhor que em ofício. Dar o corpo e dar dinheiro por cima.
123
- Posso fechar?
- Fecha!
Tomou o caminho do armazém.
- Volta aqui. Vais aprender o serviço cá de fora. Mas é preciso juízo! Sem juízo e respeito não se anda.
Ficou enleado, de mãos nas algibeiras. Desejos de abraçar o Seu Antunes e abalar para o armazém a contar ao moço. Seu Isidro ficaria contente como ele. E talvez não. Era capaz
de se lembrar de que ele começava a subir os tais degraus e ia perder companheiro. Seu Isidro triste. Abalara-lhe a Ema; agora era ele que se passava. Havia de lhe dizer que
nunca faria isso, como nunca esqueceria a Sr.a Zulmira - a cada visita com mais mimos. Tratado que nem um príncipe.
O patrão começou a contar as notas. Foi assentando com o lápis. Meneou a cabeça e franziu a boca. Pigarro. Pôs-se a arrumar o dinheiro numa caixa de folha e deitou trocos
na gaveta. Depois voltou-se para ele.
- Ora vamos lá. Esse casaco fora. Tens de arranjar um guarda-pó.
Cabeça num corropio. Olhos a sorrir. Seu Antunes puxou de um cartucho e meteu-lhe a- mão para abrir.
- Põe aí um quilo.
Os pesos baralhados no cepo. Indeciso a procurar.
- Então, homem?
O Sr. José ajudou-o, indicando-lho com o dedo. Olhar agradecido.
O primeiro-caixeiro estava diferente naquela noite. Pensava que já lhe podia ir dando um pouco de confiança. O marçano passaria a colega.
Seu Antunes encheu o cartucho e pô-lo no prato. A balança pendeu para cima do balcão.
- Vâ lá, tu.
124
O prato do peso ficou agarrado. Teve de ir à tulha buscar mais com o corredor. A balança começou a mover-se lentamente. Veio descaindo e o fiel passeou lá em cima.
- Ali é que está o guia.
O prato com o cartucho foi descendo mais.
- Já está pronto?... Olhou-o. Deu à cabeça.
- Estás como os burros? Corou. Olhos no chão.
- Responde.
- Sim, senhor.
- Peso fora. Põe o meu em cima. Deslumbramentos. Relanceou a vista para o patrão.
O prato do seu cartucho ficara agarrado ao balcão e o outro lá de cima, como a esmagá-lo.
O Rocha sorriu. Seu Antunes tirou mais pesos do cepo e deitou no outro lado.
- Vinte gramas!
Confundido. Orgulho de tomar a lição, mas vexado da diferença.
- Despeja lá isso.
Seu Antunes tomou o corredor e chamou-o num aceno.
- Vê bem. Deita-se sempre mais... Fiel inclinado para a sua banda.
- Depois vai-se tirando aos poucos. Olha para os meus dedos.
Olhos presos a seguir os movimentos. Respiração abafada. Um calor a afogueá-lo.
- Quando o cartucho vem para cima, sustém-se com a ponta do corredor e tira-se. Assim!
Levantou e pousou-o de novo. O prato com o peso descido. Pôs o de vinte gramas e a balança foi tombando.
- Vês?... Faz lá.
125
Corredor a estremecer-lhe na mão. Açúcar para dentro.
- Deita mais.
Imitou o que vira. Cartucho amparado. Sentiu pressão debaixo e tirou fora.
- Põe lá.
O açúcar ficou a dominar o peso.
- Bom!... Todas as noites vens aqui depois de fechar as portas. Isto temperado. Só aquela conta e mais nada.
Tossicou. O Rocha em cima da escada ia pendurando os molhos de abanos e vassouras que o Sr. José lhe dava na ponta da vara.
Sorrisos ide um para o outro e olhares para ele.
Via-os diferentes. Já tinha o pé no primeiro degrau. Lembrou-se do Seu Isidro. Esse ficaria triste - perdia companheiro.
Com arroz e massa ainda se faz melhor.
Abriu a tulha do arroz e foi deitando.
- Massa até acima. Arroz ao meio já chega. É mais pesado. Sempre mais do que o peso.
Pôs na balança.
- Com a ponta do corredor por cima do prato e bem tapado com o cartucho. Fala-se à freguesa. O caixeiro nunca se cala. Distrai-se a pessoa e o serviço sai melhor. Com a mão...
E ia tirando punhados de arroz.
- Quando o prato toca, ampara-se e tira-se fora. Percebes?...
- Sim, senhor. - Despeja lá isso.
- Sempre bom modo para os fregueses. Saber o que interessa a cada um. Se entram com ar doente, perguntasse o que têm. Faz conversa. Conta-se qualquer coisa que se conheça.
Se é rapariga nova, o seu gracejo cai bem. Mas nada de adiantamentos à primeira.
126
Alegria nos olhos. Tropel de sonhos no cérebro.
- Essa jaqueta tem de ir fora. Faz-se um guarda-pó. E cuidado com esse cabelo.
Num instinto levou a mão à cabeça. O Rocha de risco ao meio e o Sr. José todo arrepiado com ondas largas bem vincadas. Havia de lhes perguntar como faziam o penteado. Seu
Isidro é que estava como ele.
O patrão dissera-lhe, tinha de cumprir. Mas parecia-lhe que era a primeira traição ao companheiro de carregos. Seu Isidro cá de baixo a vê-lo subir e ele sem olhos para os
que ficavam. Vista para cima.
- A aviar azeite e petróleo nunca se tomba a medida toda. Ao fim do dia faz conta e ao freguês não importa. Cuidado com os que têm marca na garrafa. Se dizem alguma coisa,
volta-se ao funil e diz-se que têm razão. E nada de desculpas embaraçadas, nem de corar. Um caixeiro nunca cora. Bom modo e fala pronta.
Lição do futuro. Acabara a mentira da carta. "Já estou na loja e isto agora vai bem." Quem quer colher tem de semear. Palavra certa. Ainda pegaria na carroça e no cesto. Mas
já ia à loja. Se não subisse ali, arranjaria patrão. O Matos, se pudesse, metia-o. Era a sua desforra. Levar o pessoal, já que não levava toda a freguesia.
Seu Antunes adivinhou-lhe os pensamentos.
- Vamos lá a ver se me reconheces este trabalho. Vossemecês não olham a nada. Quando estão capazes e se tira algum resultado, abalam.
Vermelho até à ponta dos cabelos. Sentia bem que estava assim. Era uma mancha que alargava do peito para o rosto e descia aos membros. Seu Antunes metera-se na sua cabeça
com aqueles olhos grandes. Olhos abelhudos a remexerem-lhe tudo - corpo e ideias. Eram como duas pontas agudas que entravam pelas suas retinas e vasculhavam todos os cantos.
Os pensamentos a fugirem, proddcurando
127
onde se esconder. Quis falar, teve a impressão de que, se abrisse a boca, os pensamentos se mostrariam mais. Assim tinha-os minados no fundo do cérebro.
- Vamos lá a ver se me reconheces este trabalho. Vermelho como a menina das latas de bolacha. Jogo
das escondidas dentro dele. Os olhos do Seu Antunes maiores que os seus pensamentos. Luta desigual.
Pés arrastados, o patrão saiu a porta e foi até às tulhas. Língua a molhar as palavras.
- Vem cá.
Perdera o entusiasmo. Vexado com a traição dos pensamentos. Meteu as mãos nos bolsos, como num protesto. Seu Antunes varou-o com o olhar e acenou-lhe a cabeça.
- Vê isto bem!
Com as mãos foi puxando acima o milho até fazer um declive. Pegou na medida com a direita e amparou-a com a canha. Medida cheia. A rasoira empurrou os grãos amontoados acima
dos bordos.
- Viste? Deita ali.
Seu Antunes sorria-se, ufano do seu saber. A balança descaiu.
- Faz lá.
Naquilo não era o mesmo que pesar, e medir azeite ou petróleo com batota. Medida cheia e rasoira passada. A rasoira tirava todas as teimas. Não compreendia agora os sorrisos
do patrão, nem a ordem de repetir. Todo o mundo faria o mesmo. Aviar milho e feijão não tinha arte.
Meteu a medida no milho. Grazinar dos grãos na entrada. Primeiro mais cavo no fundo de madeira, depois alegre ao contacto de uns com os outros. Pegou na rasoira.
- Faltam esses cantos.
Seu Antunes estava a comê-lo. Indeciso.
128
- Então tu querias servir o freguês de medida vazia?
Passa lá a rasoira.
Nem um bago saiu. Vencido. Puxou milho para dentro.
- Está pronto?
- Sim, senhor.
- Deita ali.
A balança veio descaindo e pendeu para o seu lado, até tocar o balcão.
Lividez no rosto. Espanto no olhar. Um riso seco do patrão trouxe-lhe tosse. O Rocha e o primeiro-caixeiro miraram-no com ar de mofa.
Fora do nervoso. Medir milho não era pesar açúcar. Qualquer fazia aquilo. Que a rasoira tirava tudo e não tinha cantos para uns e unhas para outros.
Pegou no prato e voltou-o na tulha. Ganas de lhes mostrar a língua e chamar-lhes um nome. Um calor a subir-lhe aos olhos. Águas a ofuscá-los. Havia de lhes mostrar que aquilo
não tinha saber.
Medida nos dedos trémulos. O milho correu para dentro - e o eco batia-lhe no peito. Olhou-os com raiva. O fiel parado começou a pender. Se o pudesse segurar. Resto de milho
na medida.
- Deita tudo.
Hesitou. Vaivém de incerteza e esperança. Se ficasse cá e lá, riria dos seus risos. Interrogação.
- Vá, homem.
Tirou-lhe a medida da mão e despejou-a. O seu prato descaiu até abaixo. Queria ter dedos invisíveis nos olhos para o amparar. Ficou-se à espera que subisse. Subiu um pouco.
Uma chama a vir-lhe à face. Vontade de lhes gritar o seu desespero. Se não estivesse ali o Seu Antunes, não deixaria o prato descer. E eles que viessem a puxar do outro lado
que o não venceriam. Sentia-se capaz de chegar para os dois.
129
O Dionísio dentro de si - sonho de infância. "Ouve lá, ó valentão!..." Media-os de alto a baixo. Quem as tem é que as joga.
O seu prato não subiu além. Desceu ainda. E desceu mais. Saltitou duas vezes no balcão e ficou-se.
As gargalhadas dos três caíram-lhe nos ombros como maços - maços que o esmagavam no chão da loja e o punham em pó. Os seus pensamentos é que ficavam cá em cima. Corpo sem
formas. Do chão aos pensamentos um corpo de ódio.
Um arrepio no nariz alastrou-lhe para os olhos. Desejos de gritar. Crescer como a sua angústia e dominá-los. Ter só mãos que fosse - mãos de Dionísio. E apertar com elas as
suas gargalhadas até que se fizessem lamúrias. Mas as gargalhadas não tinham fim. Mortas nas bocas dos três e mais ouvidas no seu desespero. Gargalhadas como maços. Maços
que o desfaziam.
Meteu pela porta do balcão. Elas seguiram-no. Passaram-no. E, quando correu o ferrolho, soltaram-se lá dentro vivas. Fincou os dentes na mão para gritar a sua raiva. As lágrimas
queimavam-lhe as faces.
"E escrito e escarrado o tio Manuel. Lágrima no olho por tudo e por nada."
Queria pará-las. Corriam mais.
- Francisco!
Levantou a cabeça. Dentes fincados.
- Francisco!
Respondeu qualquer coisa. Molhou os dedos na água e passou-os nos olhos.
- Vá depressa que me quero deitar.
Lição do futuro. Seu Antunes fazia coisas de milagreiro. Pesar estava bem. Era fácil de imitar depois de explicado. Agora medir cereal com rasoira é que era de emparvecer.
130
Correu o ferrolho. Ficou na sombra a escutar. Barulho de latas.
- A como se marcam?
- R, U, dois FF.
Espreitou pela armação. Viu-os entretidos. Andar macio. As botas rangeram-lhe como nunca.
- Vamos lá.
Olhar de banda com receio de encontro.
- Primeiro que tudo puxa-se o milho acima que é para entrar bem na medida. Não se faz força para não acalcar. É bem que fique cheia à primeira. Corre-se com os dedos para
os cantos e passa-se a rasoira. Compreendes?!...
- Sim, senhor.
- Algum bocado livre à noite é praticar nisto. Tens de começar no balcão.
Cara de quem pensa.
- Se entrar uma freguesa, como é que a tratas? Pergunta parva. Tão parva que nem apetecia responder. Calado.
- Como é que lhe falas? Teimava. Tinha de ser.
- A senhora...
- Sempre assim?
- Pois!... Suspirou.
- Vamos lá a ver que paga me dás. Se é uma rapariga nova, trata-se por menina. Se mais pequena e descalça, rapariga.
Tossicou. Tosse guinchada.
- Mulher de idade, senhora. E depois vossemecê. Se é pessoa de bom trato, com ares... Muda o caso de figura. Cumprimenta-se com a cabeça e trata-se por Dona e Vossa Excelência.
Percebeste?
131
Não tinha percebido muito bem. O patrão notou.
- Estás como isto.
E bateu com os nós dos dedos no balcão.
- Pela maneira de vestir vê-se logo. Quanto melhor vier, melhor se trata.
Compreendia agora. Nunca reparara nisso. Aprender até morrer.
- Ora bem. Pesar... medir... Outra coisa!...
Avivou a atenção. Direito como um soldado. Seu Antunes que não queria mãos nas algibeiras quando lhe falavam. Tronco firme e cabeça levantada.
- Quando se corta sabão, linguiça ou toucinho, corta-se sempre a mais qualquer coisita. Uns pós... Com o tempo conheces a conta. Pesa-se. De cabeça faz-se a operação e pede-se
à maior. Se o freguês atazana, tira-se-lhe um real. Fica contente. Julga que leva pechincha. No bacalhau, o mesmo.
Hesitou. Deu à cabeça mordendo o lábio. Levou o polegar e o indicador ao nariz, como a afusá-lo.
- No corte pode-se ganhar alguma coisa. Pergunta-se se desejam às postas. Geralmente querem. A conversa não pára nunca. Diz-se sempre qualquer coisa. Mesmo que seja tolice.
No cortar com a faca deixa-se cair uma posta para o chão. Se repara, apanha-se e a desculpa é fácil: a pressa. Se não dá por isso... Sete ou oito fregueses dão um bacalhau.
Percebes?...
- Sim, senhor.
Já sabia agora porque debaixo do balcão havia sempre postas soltas. Batota do Seu Antunes e dos outros. Compreendia a razão da Ti Rosa da Ponte a gritar insultos na sua voz
rouca.
- Está tudo pronto?
Seu Antunes puxou do relógio e mexeu-se mais ligeiro.
- Hora e meia. Como o tempo passa.
132
O Rocha apagou a luz. O Sr. José e o patrão para a porta da escada. Ele para o armazém.
- Às cinco e meia a pino. Amanhã é sábado.
Escuridão.
O Rocha saltou, acendeu um fósforo e deu-lhe boa-noite.
133
Encruzilhada
No fundo do armazém o clarão da vela carregava mais o ambiente. Luz pálida e inquieta. As trevas eram mais densas à sua volta. Beliscos no silêncio. A madeira do travejamento
gemia a espaços. Os ratos roíam nas sacas.
Foi andando de mãos à frente, a querer guiar-se. A luz que vinha do fundo não lhe dava ajuda. As pilhas da sacaria faziam muralhas e sombras.
Claridade mais viva ao encontro dos seus passos. Seu Isidro, sentado num caixote, olhava um papel sem dar por ele. Só lhe via as mãos.
Como se as trevas agarrassem o papel e o quisessem decifrar.
Bateu os pés. O outro levantou a cabeça e pegou na vela.
- Tenho aqui uma coisa...
Deu-lhe o lugar no caixote e ficou a alumiá-lo.
- Comprei-o hoje. É o borda-d'água. Trocaram sorrisos.
--Vê lá os três santos.
134
O moço não sabia ler. Quisera adivinhar a que dias calhavam os "santificados", para ficar embalado nas suas promessas de folgança. Letras enfiadas como contas, mas sem sentido.
- Deixa lá isso. Vê o Santo António.
Não havia outros descansos que os dias santos. Fechava-se a loja às quatro para se abrir às seis. Em todo o ano uma dúzia de horas. O resto sempre no trabalho.
- Se calha ao sábado ou ao domingo, lá se vai a folga.
- Fica de pirraça.
Dava-se uma volta pela vila, depois de vestir roupa lavada. Conversa com amigos na praça. Uma rodada na taberna e logo a torre badalava as seis.
Uma dúzia de horas no ano. Todo o resto no trabalho.
Em noites de santos o patrão deixava sair logo que a loja se fechava. Fogueiras pelas ruas e bailaricos. Marchas para a Fonte do Altinho, à meia-noite, toalhas ao ombro, e
aos pares, cantarolando:
Santo António era bom santo...
Promessas nos olhos das raparigas. Desejos traídos pelas suas mãos.
... Santo António era bom santo Se não fora tão gaiato...
As moças mais recatadas a fazer chumbadas ou de bochecho de água, à espera de ouvir um nome - nome do que seria seu marido. E nos seus pensamentos havia preferências.
135
... Foram as moças à fonte Foram três, vieram quatro.
Alcachofras para queimar. As fogueiras do caminho não passavam em claro. De mãos dadas, todos os pares saltavam. E ao afago do seu clarão, mais galhardas as cachopas e mais
pimpões os rapazes.
Quem na água se lavar... Seu rosto vai amoçar...
- Mês de Junho, Francisco. Treze!
Seguia-lhe o andar do dedo. Sem perceber uma letra. - Treze, quinta-feira! Esfregou as mãos.
- E o outro?
- São João à segunda.
- São Pedro... Vai de sorte.
- A quantos?...
- Vinte e nove.
Um estalido de dedos. Fechou a folhinha.
- Ao domingo, não?!
- Ao sábado...
- Gaita!
Pôs a vela na ponta da caixa. O marçano levantou-se e foi para o seu lado. Compôs o caixote vazio do macarronete e meteu-lhe as sacas dentro. Dobrou outras e fez travesseiro.
"Qualquer dia teria outra cama. Seu Isidro não se mexia e ficava melhor no meio das sacas cheias com o cobertor por cima. Ele tinha de se arranjar assim. Pernas dobradas toda
a noite."
Beliscos no silêncio.
- Era muita sorte os dias todos.
136
Hei-de pedir a São Pedro - E ele não diz que não - A sua chave do Céu Para abrir teu coração.
Duas horas de menos. Depois da loja fechada nem dava ganas de mudar de roupa. Seu Antunes, sempre torto, ficava a remoer o tempo com mais isto e mais aquilo. Cá fora o estalar
de bombas e cantigas ao longe.
Só pensamentos. Palavras caras.
- Apago?...
Acenou-lhe a cabeça. A luz da vela contorceu-se. Soprou mais. Pegou numa bota e atirou-lha acima. Trevas.
- Boa noite.
- Boa noite.
"Duas horas a menos."
O moço remexeu-se nas sacas em respirares fundos. E falazou entre dentes para o não acordar.
Se lhe desse trela, tinha conversa pela noite adiante.
Estava com as suas esperanças. O corpo alquebrado e os olhos sem sono. Deitado de costas dentro do caixote, pernas dobradas e pés apoiados à saca que encimava a pilha.
Deixaria de dormir ali. No sótão havia duas camas e ele teria uma. O Sr. José deitaria fora qualquer dia. Punha casa sua e o Rocha tomava-lhe o lugar. Seu Isidro é que ficaria
para sempre no armazém até poder levar carregos. Depois teria cama num vão de escada.
Agora compreendia melhor as suas amarguras e os seus risos de desforra prévia. Já muitos tinham passado
137
por ali e deitavam a subir. Só ele ficava sempre com as saudades da Ema e a certeza do fim.
Se pudesse... Mas que podia fazer pelo Seu Isidro?!... O mesmo que pela Sr.a Zulmira.
Deixaria de lhe aparecer com o cesto das compras. O que lá fosse ouviria os seus suspiros mais fundos e os seus passos mais saltitados e leves.
- O Francisco?...
E viria à loja para o ver e trazer-lhe nos olhos promessas de nacos de carne e fruta. Mas o tratamento seria outro e já não precisaria das suas ofertas. Os caixeiros comiam
na casa de jantar depois dos patrões.
Jaqueta feita rodilha na cozinha. Teria guarda-pó. Um guarda-pó igual ao do Rocha, com bandas e carreira de botões. Seu Antunes dissera-lhe e qualquer dia dava-lho. Cabelo
-apurado com ondas e lustro. No quarto aprenderia com o Rocha como aquilo se fazia. Com o moço é que não aprendia outra coisa que não fossem queixas.
Mais umas lições à noite e começaria a trabalhar ao balcão.
- Sr. Francisco!
Ganharia nome. Deixariam de tratá-lo por rapaz. O guarda-pó era o distintivo.
Lembrou-se da explicação do Seu Antunes. "Se é uma rapariga nova, trata-se por menina. Se mais pequena e descalça, rapariga. Mulher de idade, senhora. Dona e Vossa Excelência
para as outras. Pela maneira de vestir..."
Ele também mudava. Jaqueta desfiada por guarda-pó. Via-o já vestido. Teria todos os dias água quente para lavar os pés e mais esmero na roupa. Quando a criada se fosse embora,
viria outra que o trataria por senhor. Nascia a diferença. Nunca mais limparia loiça nem faria chá. Talvez um dia por graça, se a senhora lhe pedisse...
138
O moço inquieto a suspirar. Duas badaladas furaram a escuridão. Era preciso dormir. Às cinco e meia a pé, a chamar a madrugada. Mexer no armazém e abrir as portas pelas sete.
Luzes acesas. Passos de gente para o trabalho.
Fechou os olhos. Aconchegou a manta. Os pensamentos mais vivos a baralharem-se - tropel de sonhos.
Quis teimar ainda, mas deixou-se vencer. Trevas maiores.
A Alicinha, quando passasse para a lição de piano, talvez reparasse que ele tinha guarda-pó. Um sorriso. Depois olhar à esquina. Um dia entrava e pedia-lhe rebuçados.
- São seis. Mas para si...
E dava-lhe mais dois. Ela corava. Quando lhe entregasse a moeda, encontraria os seus dedos. Dedos que lhe diriam tudo que tinha para lhe dizer.
Conversa--gosto de música, sabe?... E falaria na flauta.
Indecisão.
Ela podia perguntar-lhe quando tocara flauta. Má ideia. Teria de lhe dizer que apascentara ovelhas. A Alicinha, de canudos loiros com fitas azuis, não podia gostar de guardador,
filho de homem do campo.
Seu Isidro ali ao pé. Se os seus pensamentos lá lhe chegassem, ia recordar a conversa passada.
"Eu cá julgo que é da altura. A gente sobe, sobe... E os olhos cegam para baixo. Daqui por dez anos não ouves os moços. Já não ficas a escutar os que as mulheres deixaram.
Vida de pobre diabo não te toca as solas."
Dissera-lhe que não e agora concordava.
- Gosto de música, sabe?!... -Ah sim?...
139
Silêncio entre os dois. Ele a voltar o prato da balança, ela a amachucar nos dedos o papel com os rebuçados.
- Gosto!
- Ah gosta?...
Conversa de gosto. E não saía dali. Com as criadas seria outra coisa. Mãos pelo peito e beliscos nos braços. Mas com a Alicinha...
- Gosto de música, sabe?!...
Comer na casa de jantar. A criada a servi-lo.
- Café ou vinho, Sr. Francisco?
Ganharia nome. Não seria mais rapaz. Francisco da Silva Diogo. Escreveria o nome com rabiscos e dois traços por baixo, como o Sr. José. O Rocha um dia havia de abalar - pôr
casa sua. Era o caminho de todos. Então o Seu Antunes falaria com ele nos negócios e em política. O Sr. Sousa, ou outro Sousa qualquer, contaria do seu saber.
- Então, Sr. Francisco, que me diz?...
Teria opinião. Os outros empregados perguntar-lhe-iam o que deviam fazer. E as suas ordens não se discutiam. Primeiro-caixeiro.
- Pode-se fazer abatimento?
Mercadoria marcada. Tinha o segredo com ele. Súplicas nos olhos dos fregueses.
- Faça lá um vintém.
Seu Isidro rosnou uma praga e chamou-o entre os dentes. Não respondeu.
- Eh, pá!...
A tal coisa, a confiança... Subira e não o ouvia. Voz de moço não tem ecos.
Os fregueses de mais respeito estendiam-lhe a mão. As costureiras que passassem procurariam vê-lo.
140
Pensamento parado. Um ruído no outro lado do armazém abalou-o - deu-lhe um calafrio. Apertou a ponta da manta entre os braços.
Indecisão.
Se não se ajeitasse a pesar e a medir, Seu Antunes não lhe daria o guarda-pó. E ficaria sempre ali com o
moço-dormir vestido em cima de sacas. Teria uma Ema
que lhe abalaria, sem se lembrar que o deixava moído de saudades.
Reagiu.
Teria pernas como os outros para galgar tudo. Voz de moço sem ecos. Não a ouviria lá em cima. E Seu Isidro, quando não tivesse ganas para as sacas, acharia cama num vão de
escada. Mal feito. Mas fora sempre assim - uns homens e outros formigas.
141
3
Romance do passado
O choro do menino sobressaltou-os. Ela pousou a xícara do café e saiu numa corrida, guardanapo amarfanhado na mão.
Respirou fundo e puxou de um cigarro. Deixou descair o corpo, recostando-se na cadeira.
- O padrinho quer o cinzeiro?!...
- Sim, traz.
A garota saltou do seu lugar e foi ao guarda-prata buscá-lo. Estendeu-lho com o seu ar meigo, sempre a mendigar carinhos.
- Põe aí.
Pendeu o queixo no cabeção de renda e afastou-se. Ele reparou na sua tristeza.
Do corredor, o choro foi abrandando até se extinguir.
Cigarro nos dedos da canha jeitosa afagando o peito, fechou-se ao olhar submisso da afilhada e ao ambiente.
Vida de vertigem. Parecia-lhe que fora ontem. Era como uma história que lhe tivessem contado. Uma história que fora escrevendo no cérebro e podia repetir agora sem lhe faltar
um ponto. Aquela jaqueta desfiada e depois o guarda-pó. Marcos do seu caminho.
145
O pobre Antunes - bom velho! - fora um pai. Tinha das suas. Mas era mais daquela bronquite, que o levou, que dele próprio. Sempre pronto para dar ordens, a pegar por tudo,
mas bom mestre. Os caixeiros de agora precisavam de patrões iguais. Tudo muda!... Dia de descanso, horas de comer... E todos se arrenegam, se há ordem de torrar à quinta-feira
ou dar volta ao armazém. Marçano é fidalgo. Caixeiro é rei.
Quando o Antunes fechou os olhos, tratou de procurar casa. A D. Maria trespassara a loja e o novo dono trouxera pessoal. Arranjou para ali. O Campos & Silva era estabelecimento
de fama. Apreciaram-lhe as qualidades e fizeram-no primeiro-caixeiro. Se o Isidro o visse!... Bom tipo!... Pobre diabo!...
Esmagou o lume do cigarro no cinzeiro e encostou a cabeça à mão.
A afilhada procurou-lhe os olhos, inquieta. Ganas de abalar e ir qdar volta pela varanda. Puxou as tranças. Balouçou as pernas. Nada a entretinha.
Por duas vezes esteve para abrir a boca a pedir. A recomendação da mãe sempre presente. "Faz todas as vontades. Cuida de agradar. Podes ser uma senhora e se vens para casa..."
Decidiu-se.
- Padrinho!...
Olhou-a, distraído.
- Dá licença que me levante?!...
- Obrigada!
Foi receber-lhe o beijo da bênção. O afago daquelas mãos aqueceram-lhe amuos.
Sozinho. Desabotoou dois botões das calças e refestelou-se melhor. Acendeu outro cigarro.
146
"Que seria do Isidro?!... Cama nalgum vão de escada. Sina dos que não nascem espertos para o negócio. A sorte é só uma. Vem uma vez e não volta mais. Aquela sina!..."
Sorriu-se orgulhoso ao recordar a Sr.a Zulmira. Depois dela tantas outras mulheres tinham passado. Poucas deixaram raízes. Mas fora a primeira...
Estava a vê-la. Aquele tique de careta e o seu passo pulado. A mão nervosa e ossuda a estender-lhe acepipes. Os seus beijos faziam-no sorrir.
Levantou-se e deu um passeio ao lado da mesa.
- Era preciso coragem!...
E riu. As suas gargalhadas ecoaram-lhe como um coro de muitas bocas.
- Era preciso coragem!...
Defronte da loja a casa do Sr. Meireles. Ajudante de notário, conhecido de todos pelo seu corpo de boneco de vintém e as bandas do casaco puxadas à frente. Tinha o horror
das constipações. O guarda-chuva era o seu companheiro de sempre.
Era como se o visse. Acabava de jantar e passava pela loja a comprar um charuto. Remexia o pacote, abria as cintas, apalpava, punha de lado e levava um. E lá ia todo encolhido,
como a desejar que o vento o não visse e lhe ferrasse alguma catarreira.
A criada entrou e perguntou-lhe se podia ir chamar o Sr. Alves. Disse-lhe que sim e continuou o passeio. Envolvido no fumo do cigarro - fumo do passado.
Começou a notá-la. Vira-a namorar o Guedes, guarda-livros da Cooperativa, e o Abreu, filho de um lavrador-rendeiro. Sentira ciúmes. Mas julgava que nunca a tinha desejado.
Era como se cometessem uma falta, namorarem sem lhe pedirem autorização.
Cumprimentaram-se. Um dia ela interessou-se em saber se dançava. Que não, ainda não tivera tempo para
147
aprender. E depois não era sócio do Grémio e ainda menos do Clube.
- Se fosse, não me importava de lhe ensinar. Meteu proposta. Andou alvoraçado com receio que
o rejeitassem. Não era que o Grémio tivesse a sua escolha como o Clube, mas tinha a impressão de que indagariam de quem era filho. Felizmente que o pai nunca ali viera e ninguém
conhecia o seu passado.
Naquele Carnaval foi uma loucura. Ela mascara-se de holandesa e o vestido ia-lhe a matar no corpo farto. Dançaram muito. Pisou-a toda a noite e riram. E foi sentindo que a
mão dela lhe confessava coisas diferentes das outras mulheres. Desejou a terça-feira. Com mais cinco colegas, arranjou uma carroça e com punhados de chícharo e pacotes de
cré atiraram às janelas e fizeram assaltos.
Nasceu qualquer coisa entre eles. Simpatia ou amizade.
- Dá-me licença, Sr. Diogo?!...
- Entra, entra!
Incomodava-o a presença do caixeiro. Abriu a janela. Era como se se isolasse com a noite. Um ar frio correu-lhe no corpo.
"Encostou-se à mesma parede onde se encostavam o Guedes e o Abreu. Passaram anos - anos de anseios. Roubara-lhe um beijo a dançar uma valsa e aquele contacto ficou-lhe na
boca por muitos dias. Ela repreendeu-o com palavras de quem lamentava a amostra. Desejou-a mais. Como o seu desejo pela Alicinha."
Espirrou. Sacudiu a cabeça e ficou-lhe uma moinha na nuca. Cerrou a janela - como se cerrasse as suas recordações. Com o Alves ali...
- É preciso fazer um lote de café especial.
- Na quinta-feira de manhã trata-se disso.
148
Ao rosto do Alves desceu uma nuvem. Dia de descanso para fazer lotes. Não bastava a semana.
Lá dentro voltaram os choros do filho. Apagaram-se-lhe recordações do passado - volvido para o futuro.
Imaginação aberta a conceber planos sem barreiras. Se o porvir fosse escrito como um testamento, havia de o desenvolver por muitas páginas. Segui-lo passo a passo, desde o
berço até à tumba. Pô-lo nos estudos. Os selos de dois mil e quinhentos estavam lá em baixo, na gaveta da loja. Chegava para isso.
Passos no corredor. Amimalhos.
A afilhada veio a correr e encostou-se-lhe às pernas, pedindo-lhe um afago com o seu ar humilde. Tivera muitos antes de o menino nascer. Festejava-o também, porque isso agradava
aos outros. Mas sentia-lhe aversão funda. Viera tirar-lhe o lugar. Achava-o feio - como um rato pelado. Nunca vira nenhum assim, mas entendia que seriam mais repelentes ainda,
sem aquele cinzento-escuro do pêlo. Sempre de boca aberta. E parecia-lhe que nem era boca o que abria, porque não tinha dentes - só o rosado das gengivas e da língua inquieta.
Olhos azuis deslavados, pêlo encarniçado como um diabo. Não percebia porque a madrinha o aconchegava ao peito e lhe falava. Via-se mesmo que ele não entendia nada e só sabia
chorar em resposta a tanto mimo.
- Ó Diogo, que graça!
Foi ao encontro da mulher e do filho.
- O menino disse pai.
Orgulhoso. Tocou-lhe com o dedo na ponta do queixo.
- Diz lá, anda, diz lá.
Beijou-lhe as mãos papudas a surgir das mangas de renda.
149
A garota, de longe, mirava-os de olhar apagado. Um rubor leve no seu rosto branco pintalgado de sardas. Sardas irmãs do seu cabelo ruivo.
- Pá... Pá.... diz para o pai ouvir.
Agitado, o filho deixou escorrer no queixo uma golfada de leite. Limpou-lho com o babeiro bordado de azul.
- Está mal disposto.
- É melhor levá-lo.
- Anda, Helena.
Seguiu a madrinha com desejos de bater os pés. Ia encafuá-la no quarto e fazê-la embalar o berço, horas esquecidas.
- Canta para o menino não chorar.
Tudo o menino. Vingava-se a sacudi-lo com impulsos de quem o queria atirar fora. Cantar-lhe o papão quando apetecia o "chora, Manuel, chora" ou o "giroflé".
O caixeiro pediu licença e levantou-se.
- Já lá vou contar o apuro. O João que encha as tulhas ,e peneire a farinha que veio do Soares.
Só. Puxou de um cigarro e acendeu-o.
- Maria!
Incomodava-o. A luz não o deixava pensar no futuro do filho.
- Leve esse candeeiro.
- Ainda não levantei mesa. Enfureceu-se.
- Leve! Mania de responder a tudo.
A criada indecisa, mais lívida e trémula. - Leve!
Como se as trevas o aconchegassem. Assim podia pensar. Só ficava a luz dos seus pensamentos. Luz interior que rasgava as trevas e abria caminho.
150
"A loja seria maior. O filho de capa e batina a falar de nomes esquisitos e a levar a palma a todos. Não seria como ele. Nem como o Sogas e o Verde. Filho de comerciante não
é filho de cavador."
Ficou-se a trazer o passado. Ondas que o batiam, como de dois mares separados por si. Vivia no meio. Galgavam-no, às vezes, e enrolavam-se, confundindo-se.
O futuro do filho era como o romance do seu passado.
151
Guerra
A senhora do Pimenta já mandara pedir o jornal por duas vezes. Agora pusera-se da janela a espreitar a criada. Acabara o julgamento de Madame Caillaux, mas as notícias interessavam
tanto ou mais. Não era que o marido estivesse em idade de ser chamado, porém, gostava sempre de andar em dia com as novas. À tarde, de janela para janela, as vizinhas ficavam-se
a escutá-la, porque a D. Efigénia dizia alguma coisa mais do que o Notícias.
- Eu já lá mando pelo João.
A criada saiu contrafeita. Não lhe pegou no braço como de seu hábito. Naquela manhã só o dominava a notícia.
- Um escândalo!... Um escândalo!... O António Marques, viola debaixo do braço, meio sonolento, que ainda não pregara olho, escutava-o distraído. Tivera ceia até de manhã e
passara por ali em busca de tabaco fiado. No livro de "cães", o seu nome tinha domínio. Mas a loja do Diogo estava sempre aberta para si. O merceeiro pagava-lhe assim o prazer
de o ouvir todas as tardes e de o ter à mesa de vez em quando. O seu discurso
152
no baptizado do filho era daquelas manifestações de amizade que não há tabaco que salde.
- Um escândalo! Uma vergonha!...
E pegando de novo no jornal, voltou a ler.
- Terceiro: que se fixe por meio de uma tabela, baseada no preço médio dos últimos trinta dias anteriores à crise, o preço de todos os géneros destinados à alimentação.
Ficou de Notícias arrepanhado na dextra.
--Destinados à alimentação... Vê, tu! Sempre perseguidos. A mercearia é a escumalha do comércio. E se não fôssemos nós, o país morria de fome.
O outro abanou a cabeça com desejos de o contrariar. Mas lembrou-se do tabaco.
- Que me dizes a isto?!...
- Ó homem, que hei-de dizer?
- Isto são coisas desses senhores socialistas. Eu e os outros fizemos a República e afinal isto é uma república para eles.
- Mas...
- Então já te esqueceste da manifestação de um de Agosto?
E rebuscou no maço dos jornais.
- Vinte seis de Julho.
Título soberano. Interrogação esmagadora. A GUERRA?
Foi passando. Nervoso, roía as unhas. Na primeira página- Mobilização geral da Rússia.
- Cá está. "Os manifestantes deverão reunir-se pelas 21 horas, na Praça de Luís de Camões..."
- Pobre Camões...
- Dizes bem. "Seguindo pelo Chiado, Rua Nova do Carmo, Rossio, Rua Augusta e Praça do Comércio, dirigindo-se
153
ao Ministério dos Estrangeiros, onde será entregue uma mensagem de protesto contra a guerra."
- No fundo era um protesto contra os merceeiros. E a Câmara deu-lhes ouvidos. E nós que fizemos a República...
Silêncio. O Marques passou os dedos pelas cordas da viola.
- É de perder a paciência, é de perder a liberdade. Dá ganas de ir a S. Bento e dizer àqueles senhores que fechamos as lojas. E depois que comam os estandartes vermelhos dessa
súcia.
Cruzou os braços no peito e encostou-se ao balcão, batendo o pé. Uma freguesa entrou. Deu-lhe os bons-dias.
- Como é possível regulamentar preços? Cada um vende como quer. Se o freguês tem mais barato, procura. E assim que eu entendo a liberdade. Liberdade para todos. Seria a mesma
coisa que dizerem que tu não podes tocar viola. Mas porquê?!...
Ficou a arfar. Foi até à porta. O outro aproveitou e pediu uma onça de tabaco.
- A guerra lá em casa do diabo e as primeiras vítimas somos nós, que pagamos as contribuições. E se são pequenas! Donde vem o dinheiro?... Dali, da gaveta! Que lhes importa
que se venda a pele, que façam preços impossíveis, se temos de ir ali à Fazenda descarregar tudo?
- Sr. Diogo - interrompeu o caixeiro em voz baixa.
- Que é?
- É preciso comprar açúcar loiro.
- Não se compra coisa nenhuma. Fecho a loja! Já que nem posso mandar no que é meu, acaba-se com isto.
O Marques sorria, matraqueando os dedos no tampo da viola.
- Isso há-de resolver-se. Vocês fazem um protesto...
154
E quando a freguesa saiu:
- Isto às vezes são coisas para inglês ver, homem. É preciso contentar toda a gente. Pelo menos com palavras.
Aquietou.
- Supõe tu que não se dizia nada. E então?!... Começava a barafunda. Vinham as eleições e depois?... Os monárquicos falavam no rei; os socialistas, nas suas reformas. E ninguém
se entendia. Que fazem eles, afinal?!... O que nós fizemos para o cinco de Outubro.
- Mas na República cabem todos. Que querem mais?!... Acabar com os que fizeram a revolução? Se apregoámos a fraternidade e eles estão a mostrar-nos a essa malta como inimigos!
Se implantámos a liberdade e querem obrigar-nos a vender pelo preço que lhes dá na cabeça! É uma pouca-vergonha!...
Falava mais calmo. O outro bocejou.
- Foi uma pândega de estalo. Comemos umas molejas que estavam de lamber os beiços. O Artur trouxe a Isaura. Canta cada vez melhor. Tu já a ouviste?!...
- Só uma vez.
- Quanto mais bebe mais sentimento tem. E é um pedaço!... Estive para te convidar; mas agora deste em frade.
- Com estas coisas como é que se pode ter alegria? Tudo pegado. A guerra a alastrar...
- Ainda não chegou cá. E, se vier, não é a gente que a paga.
- Eu já comecei a senti-la.
- Vais fazer mais negócio. Entre mortos e feridos... Depois me hás-de contar.
- A França embrulha-se. A Inglaterra está de espreita...
- Má companhia para a França.
155
- Vejo tudo muito carregado. A Associação Comercial de Lisboa fez aquela reunião no sábado e agora quero ver o que sai dali. São capazes de deixar isto sem protesto.
- Não me parece. Hão-de minar... E depois são palavras, por enquanto. Primeiro que se faça a tal tabela... Não te doa a barriga. Queres vir daí?
- Não posso.
- Vou matar o bicho. O Nunes tem um abafado... Guarda-me aí a viola.
Passou-a para as mãos do Alves.
- Se me vissem a esta hora, não faltaria conversa. E então aquela do Pimenta, que tem uma língua...
- Agora por isso... Ó João! Vai levar o jornal à D. Efigénia. Que desculpe e quando não precisar...
- Arranjas-lhe assunto.
Riram. O Marques saiu, prometendo voltar à tarde. Foi para dentro do balcão e pegou no rol.
- Levou mais uma onça.
Fez que não ouviu. Não era aquele que o moía.
- A Maria Ludovina entregou alguma coisa?
- Ainda não. Tem o marido no hospital...
- E eu é que pago as doenças?! Eu é que abono desgraças?! Não leva mais nada.
- Já lhe disse. Chorou para aí...
- Deixe-a chorar. Quem paga as letras sou eu. Nisto, ao menos, ainda mando.
E foi passando as folhas, a cantarolar entre dentes.
156
O futuro é maior que o mundo
Ruas desertas. A luz frouxa dos candeeiros de petróleo reflectia-se nas poças e brilhava no visco da lama. Oblíquas e pegadas, as cordas de água vergastavam os vidros e os
que estavam acolhidos nos portais. Em voz cava, os trovões ralhavam angústias aos que amanhã não pegariam no trabalho.
Desde as cinco horas que a noite viera. A nortada gemia em gritos. Passava os olhos por uma ilustração com gravuras da guerra, mas estava longe. Outra página. De rastos, na
lama, um soldado caminhava. Olhar pregado e trágico. Corpo mal definido nas trevas, aquele homem só tinha olhos.
Fixou-se na estampa. Um abalo martelou-lhe no peito. Suspirou. O passeio do pêndulo ressoava-lhe nos nervos.
Noite igual à sua - o soldado foi tomando o seu rosto e fez-se espelho das suas inquietações. Lama com lama.
A mulher fora amimar o filho, despertado com o temporal. A afilhada já dormia no seu quarto de vão de escada.
Ele e o pêndulo. O soldado e as trevas.
157
"Raid na terra-de-ninguém."
Pôs a ilustração de lado. Cerrou os olhos, mas a sua imaginação ficou escancarada.
Mobilizado também. Mobilizado por ele próprio numa luta sem tréguas. O seu raid era uma conquista - a conquista do futuro. Batalha onde jogava tudo - a liberdade e a vida.
Luta mais ardente do que a do soldado que tinha o olhar pregado e trágico.
Rastejava na noite como um verme. Irmão do soldado - com destino diferente. Ambos cumpriam um dever. E parecia-lhe que o seu era mais humano que o do companheiro. O outro
tomaria, quando muito, o parapeito de uma trincheira. Ele tomaria o futuro. O futuro era a preocupação de todos. E muitos ficavam no caminho, depois de terem gasto as suas
melhores energias.
Luta contra todos.
Aquele tinha por detrás de si homens e homens. Ele era só. O filho estava deitado e a mãe dava-lhe carinhos. Ajuda passiva. O soldado batia-se pela França. Ele batia-se pelo
futuro. O futuro era maior que o mundo.
Lembrou-se das palavras daquele jornal - jornal de súcia. "Para quê a guerra? Se de um lado e outro vencem os mesmos. Se nas guerras há sempre um vencido - o povo. O povo
único." E depois falava contra os especuladores.
Baralhavam tudo os homens daquele jornal. Os inimigos do povo tinham acabado naquela manhã de cinco de Outubro. Tinham morrido com a fuga do rei. O Governo era de republicanos
e ele ajudara a fazer a República.
Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
Mas eles abusavam. E o jornal dava-lhes incitamentos. Para quê os assaltos às lojas?!... Liberdade não era isso. Era poder dar morras à Monarquia, quando quisessem. Pedir
ao Governo providências, mas não irem ao exagero
158
de pedir tabelas e fazer greves. Liberdade já eles tinham de mais. Gritavam contra a Monarquia e a Monarquia fora derrubada. Depois cada um à sua vida.
Ele pedia cinco e eles que procurassem se alguém lhes vendia por quatro. Liberdade de procurar e de comprar onde lhes aprouvesse. Agora quererem mandar na casa de cada qual!...
O pêndulo passava-lhe nos nervos e fundia-o com o seu bater. Era como se o relógio repetisse os seus pensamentos. Como se fosse ele que marcasse o tempo no peito.
Ficou à escuta. Tinha o pêndulo do lado esquerdo, mesmo por baixo da camisa, à flor da pele. Dentro de algumas horas talvez não batesse mais. Os guardas andavam de espreita.
Na outra semana tinham apreendido uma carroça ao Soeiro.
Agora o soldado de olhar pregado e trágico era o inimigo que o esperava nas trevas daquela noite de temporal. As verdascadas da chuva nos vidros eram um aviso - um aviso que
cobria o bater do pêndulo do seu peito.
A campainha da porta badalou apressada. Foi à janela. A chuva zurziu-lhe o rosto.
-Quem é?
- Eu!
A voz do Alves.
- Fui pela linha e vi-os. Estão mesmo à entrada da vila.
- Vá-se deitar. Obrigado. Abafe-se bem. Ouviu-lhe os passos na escada do sótão. O relógio
bateu onze horas - badaladas repetidas no seu peito.
Tinha de meter pés a caminho. Baixou a luz do candeeiro e sentou-se ainda.
Conquista do futuro. Luta contra todos. Mas o futuro era maior que o mundo. Era uma estrela que lhe acenava promessas para além das barreiras a vencer. Não podia
159
tolher-se. Só havia o caminho do facho da estrela - os seus olhos estavam cegos para tudo o mais. Deslumbrados com o seu fulgor tão intenso que parecia viver dentro de si.
- Que noite...
Sentiu-lhe a mão inquieta. Entregou-lhe a sua para a
acalmar.
- Vais assim, Diogo?... Voz dura.
- Vou.
- As faíscas cegam. A chuva não pára.
- Melhor ainda. Tudo vai correr bem. Palavras a esconder os seus receios.
- Não há que olhar o temporal; há que ver mais para além. Ficar de braços cruzados enquanto os outros minam?...
Afagou-lhe a mão.
- Termos a certeza no dia de amanhã. O nosso íilho não levará esta vida. Fará um curso. Será doutor.
- E se te apanham?!...
- Saberei evitá-los. Se isso sucedesse, voltaria ao princípio. A hora é dos que não temem.
Só a fala do pêndulo.
- Querem ver-me esmagado pelos outros?... Eles a medrarem e eu tolhido aqui, à espera que a fortuna me subisse a escada?...
Levantou-se. Puxou-a a si. - Chove tanto!...
- E se não apanhar esta chuva?... Vestiu a capa alentejana. Enfiou um barrete. -- Ninguém me conhece. --Vais que nem um ladrão de estrada. Sorriram. Sorrisos amargos.
160
- É o mau sinal dos tempos. Os homens de bem mascarados de ladrões para fazer a sua vida. A que isto chegou. Liberdades para tudo, menos para o que é justo.
Foram enlaçados pelo corredor.
- Se me demorar, não te ponhas em cuidados. Pode ser que mesmo em casa do Valadas não fique bem. Alguma denúncia...
- Vai com Deus!...
E viu-o desmanchar o passo, como se fora outro. Interrogou a noite. Noite cerrada aos seus anseios.
Na estrada, a patrulha. Pela linha vigiada não podia ser longa a viagem. Ruas desertas.
Puxou a gola à cara, não surgisse alguém que o conhecesse. Olhos inquietos a penetrar sombras. Ouvidos atentos a adivinhar ruídos. Só a água a correr nas valetas e dos beirais.
A luz dos candeeiros nas poças e na lama. Parecia-lhe que o seu clarão triste queria afastar-lhe a gola e descobrir-lhe o rosto. E baixava a cabeça, se lhes passava mais perto.
Às duas horas a carroça estaria na encruzilhada e tinha de alargar o passo. A demora perderia tudo. Mais dez quilómetros e fazer ainda aquela volta.
Traçou o caminho - meter à estrada nova e galgar depois os atalhos. Por ali não havia que temer. Em azinhagas não há vigilância.
Últimas casas. A chuva mais cerrada. Os relâmpagos mais curiosos que a luz dos candeeiros. Descargas secas e riscos de lume. Olhos vazios de imagens. Depois formas vagas nas
trevas.
Meteu à azinhaga. Noite maior. Os muros esmagavam-no como paredes de uma cela. Nem uma estrela no céu. Mas dentro dele levava a maior estrela de todas.
161
Lembrou-se do Seu Isidro. Ascensão. Subir sempre, mesmo em noites sem estrelas. Não ouvir as imprecações do temporal, nem recear as patrulhas que espreitam. A vida é só para
os que têm querer. Para os que erguem a cabeça e caminham, sem reparar que as formigas morrem debaixo dos seus pés.
Um relâmpago maior acendeu-se. Como uma descarga dos seus sonhos. Parou sem rumo. Cego para o caminho. A chuva vergastava-o mais cruel. E o vento trazia-lhe gritos - os gritos
de uma multidão que o perseguia.
Quis estugar o passo. Mas o relâmpago levara-lhe os olhos. A capa pesava-lhe nos ombros, como uma maldição - maldição do soldado que rastejava na terra-de-ninguém. O barrete
escorria-lhe. Rosto alagado de água.
Hesitou. Nasceu-lhe um receio no peito. Uma dúvida a cobrir-lhe a sua ânsia de caminhar. O corpo lasso, sem vontade. Arfava.
Desgarrada, uma hora bateu. E aquele som galgou o seu receio e os gritos do vento. De todos os lados lhe chegou a intimação. Noventa minutos para galgar o parapeito do futuro.
Passivo como um campo de duas trincheiras. Arame farpado a dividir-lhe o peito. Dois soldados de olhar pregado e trágico a procurarem-se nas trevas.
Em casa, o sossego, os carinhos da mulher e os sorrisos do filho. Ali, a luta pelo porvir. Parecia-lhe que o corpo se balouçava, como o pêndulo do relógio, entre as duas ideias.
Como uma onda feita e depois recolhida nos braços do mar.
Os olhos voltaram-lhe. Mas os dois soldados ficaram a procurar-se no campo dividido pelo arame farpado. E os dois viviam dentro de si - irmãos que não se compreendiam.
162
"Se nas guerras há sempre um vencido - o povo. O povo único." Vencido só ele.
Gostaria de ter palavras que os harmonizassem. Que as mãos de ambos desfizessem o arame farpado. E em lugar de frente a frente se pusessem lado a lado. E caminhassem juntos.
E o levassem por azinhagas e atalhos à encruzilhada.
"Faltava hora e meia."
De todos os lados lhe chegou a intimação. Mas ele balouçava como um enforcado - fantoche dos seus receios e das suas esperanças.
A chuva não parava. As trevas não se abriam.
Tinha dentro dele a estrela que o podia guiar. Faltava-lhe agora o dinamismo que o fizesse seguir contra todos - contra os gritos da multidão que o perseguia e as patrulhas
que o esperavam.
Estrela morta - estrela sem luz e sem pontas que rasgassem as suas dúvidas. Estrela de cinco baionetas abandonada na terra-de-ninguém.
Sentou-se num seixo. O corpo não sentia o temporal. Era um pedaço de natureza passivo à chuva e ao vento. O seu corpo fundido com as trevas. E as duas ideias, frente a frente.
Tirou o barrete; sacudiu a capa.
Ficou mais leve. Os pingos da chuva corriam-lhe no rosto como lágrimas.
"É o tio Manuel por uma pena."
Ergueu-se num rompante e ensaiou um gesto. Enxugou o rosto e mostrou-o à noite. A chuva encharcou-o de novo. Cerrou os punhos.
Para cima, a noite sem estrelas - só a estrela de cinco baionetas abandonada na terra-de-ninguém. Do outro lado as luzes da vila. Se o vissem passar, elas o conheceriam.
163
E passariam umas às outras que ele receara o futuro e voltava vencido.
- Então, Diogo?!...
Afogaria as lágrimas entre os braços e o pêndulo lhe diria que a vida é só para os que têm querer. Para os que erguem a cabeça e caminham sem reparar que as formigas morrem
debaixo dos seus pés.
Os carinhos da mulher teriam asperezas. E os sorrisos do filho seriam de compaixão.
As lojas dos outros cheias até à porta, sem mãos a medir. A sua abandonada, de prateleiras vazias. Só teria para vender a sua cobardia. Cobardia aos quilos e aos litros.
Francisco da Silva Diogo - cobardia a retalho e por atacado.
Os fregueses passavam e não queriam comprar aquela mercadoria do homem que não soubera conquistar o futuro.
Recuou.
No meio da azinhaga, ao lado esquerdo, havia um vulto. Um vulto que deitava a cabeça e depois se acolhia no muro. Tinha os braços abertos. Rogava ao céu ou queria apanhá-lo.
Braços maiores que o corpo.
E o vulto avançava. Depois quedava-se e ia para junto do muro. Algum guarda de sentinela. Tinham-no visto passar e denunciaram-no.
"Faltava hora e meia."
Deu dois passos em frente. A seus pés corria um arroio entre as pedras do caminho. A chuva embrandeceu. O vento sempre agressivo a vergastar-lhe o rosto.
Era o futuro a lançar-lhe o seu desdém. Meteu a mão no bolso e tirou a pistola. Os dois soldados com ele - frente única. Os pés tropeçaram num seixo e o peito saltou-lhe à
cabeça. Olhos pregados. Voz frouxa.
164
- Quem está aí?!...
Um frémito no corpo. A boca seca. Gritou mais:
- Quem está aí?!...
Não compreendeu a resposta. Não distinguiu se fora uma gargalhada ou um gemido.
Dedo no gatilho. O barrete caiu-lhe. Alguém lho puxara. Voltou-se para trás, peito aos solavancos. Mãos trémulas. Corriam-lhe lágrimas.
Aquele fugira. Tivera medo. Só o outro lá estava em cima, encostado ao muro. Crescera como um gigante. Mas não retrocedia agora. Eram três contra um - ele e os dois soldados.
Respiração apressada e incerta.
Francisco da Silva Diogo - cobardia a retalho e por atacado.
- Quem está aí?!...
Correu azinhaga acima, de mão estendida. O outro não fugia. É que tinha arma também. Antes assim. Quando o chamassem ao tribunal, diria que o matara por defesa. Que não era
cobarde.
-Não sou cobarde!
Parou a arfar. Olhos esgazeados a quererem dominar o vulto.
- Quem está aí?!... Hesitou.
Camarinhas de suor e gotas de chuva corriam com as lágrimas. Limpou-as com a mão tomada de tremuras. Os dedos esqueceram-se a vaguear no rosto, como se pudessem apagar a imagem
daquele que o esperava na sombra do muro.
Uma rajada de vento desgrenhou-lhe o cabelo e fê-lo cambalear. Aprumou o busto a defrontá-lo. Dentes cerrados. O vento era companheiro do vulto e não o deixava seguir. Uma
folha bateu-lhe na testa. E o seu contacto ressoou-lhe como uma bofetada.
165
A incerteza apertou-lhe a gorja seca. Forte como um baraço de corda a esganá-lo. Enforcado. E o corpo balouçava como o pêndulo do relógio, entre as duas ideias que voltavam,
divididas pelo arame farpado.
A mão descaiu, como se a pistola lhe pesasse.
O tiro despertaria a vila adormecida. E a patrulha viria, leve de pernas, azinhaga acima. Um homem morto. Fariam batida pelos arredores. Talvez o vissem ainda a esgueirar-se
e dariam com a carroça. Os jornais falariam do caso. Retrato na primeira página e história romanceada. O seu passado e o seu presente.
Aos serões, por todo o País, diriam que tinha cara de assassino. E ninguém podia lembrar que ele ia para a conquista do futuro e que o outro lhe barrara o caminho.
A monte sem pão nem telha. Fugindo dos povoados e das estradas. Acoitado nos pinhais e nas grutas das montanhas. Cada bolir de folha uma interrogação. Cada rufiar de asas
um abalo. Murmúrios do vento, palavras de maldição. Cantares de pássaros, gargalhadas de mofa pela sua liberdade prisioneira. Prisioneiro das suas visões e das suas angústias.
Vagabundo desconfiado que nem podia aceitar a companhia dos que correm as estradas, em busca de pão sempre negado. Olhos no chão. Olhos que não fitariam o Sol, nem as estrelas.
Futuro de Seu Isidro.
Se arranjasse canto onde o deixassem trabalhar, ficaria a rir-se dos marçanos, dos que vão subir e não volvem as retinas para o passado.
A chuva parara. Só entre as pedras da azinhaga um fio de água dizia do temporal. Só o vento mais raivoso ficara como a memória viva daquela noite.
Tudo perdido.
Uma badalada - um estremecimento.
166
"Faltava uma hora."
Como em bigorna, a badalada ficou a martelar aquela obsessão. Martelo que lhe queria moldar o futuro em brasa.
"Faltava uma hora."
Francisco da Silva Diogo - cobardia a retalho e por atacado.
Marés de abatimento e confiança. Certeza e desespero.
Abriu a capa e o vento varou-o. A badalada, num ritmo certo, caía-lhe no cérebro - sempre e mais forte.
"Faltava uma hora."
A noite lho dizia. O arroio casquinava em gargalhadas mansas.
Procurou o outro lá em cima. Não arredava pé. Estaria a sorrir-se do seu enleio e iria contar o caso daquele homem que viera à conquista do futuro e ficara no meio de uma
azinhaga a receá-lo.
Alçou a mão. O corpo sacudiu-se, ganhando ímpetos. Olhos pregados a quererem esmagar o vulto.
- Quem está aí?!...
As palavras ficaram-lhe na garganta, ecoando dentro dele, sem defrontar a noite. Arfava, como cansado de toda a caminhada que ainda não fizera.
"Faltava uma hora."
A carroça esperaria. Quando a manhã chegasse, os guardas receberiam a denúncia. Os outros haviam de rir. "Quem nasceu cinco-réis não chega a vintém."
Mão trémula. Um mugido do vento abalou-o mais. Aos galões, no peito, o coração batia como se quisesse sair. Como se quisesse amarinhar a azinhaga e defrontar o outro. E dizia-lhe
do seu desdém, porque na loja de Francisco da Silva Diogo só restava cobardia para vender a retalho e por atacado. Preços de concorrência.
A badalada batia-lhe no cérebro e no coração.
167
- Quem está aí?!...
Como numa prece o outro não se arredava. E ria. Ria o vento e o arroio. E os outros todos que saberiam do seu caso. O Seu Isidro também.
"Hum!... Aquele enganou-me... Julguei-o esperto!" Desforra de formiga - formiga que não se pisa.
- Quem está aí?!...
Ouvira agora bem o seu grito. Grito capaz de acordar o mundo e dizer que ele não recuava nunca. O outro tinha o futuro guardado lá em cima, mas ia buscá-lo. De qualquer maneira.
Pistola na mão - em mão firme. Pò-lo-ia de joelhos a mendigar perdões.
- Sr. Francisco!...
Encheria a concha da mão com as suas lágrimas, para que todos vissem que ele vencera o homem que guardava o futuro e se acoitava nas sombras da noite a barrar-lhe o caminho.
- Quem está aí?!...
Via o outro cada vez mais nítido. Adivinhava-lhe o rosto, onde os sorrisos se tinham transformado em esgares. E os braços erguidos dirigiam súplicas ao Céu. Mas o Céu estava
fechado - não havia estrelas nem luar.
- Saia daí ou então disparo!
As botas matraquearam nas pedras. A capa prendia-lhe os movimentos - cúmplice do vulto. Mas agora ele venceria tudo. Os dois soldados podiam tomar o partido do outro que ele
não conheceria hesitações.
A vida é só para os que têm querer.
Distância galgada. Frente a frente. Olhos turvos de ódios. Lábios sedentos de vingança.
"Faltava uma hora."
O vulto foi-se definindo. Mais dois passos e podia tocá-lo. Contornos vincados.
168
Olhou-o de alto a baixo. A mão descaiu-lhe. Fugira.
Não podia tomar-lhe as lágrimas. No seu lugar uma árvore. Uma árvore seca, sem ramos - árvore sem sombra.
Antes assim. Cobarde fora o outro. E não lhe levara o futuro. Porque esse tinha ele mais perto que nunca. Nas mãos e no peito. Única estrela na noite.
Todo o caminho agora era a descer. Nas trevas uma pincelada de luz.
Numa hora fazia-se um mundo. Vencem-se todos os vultos.
Deitou a correr.
Mas parecia-lhe que estava quieto e eram as árvores e os muros que passavam por ele a oferecer-lhe a distância.
Um cão ladrou. Não o ouviu. Um ramo de silvedo rasgou-lhe a face. Foi um carinho. Um carinho para novas forças.
A vida é só para os que têm querer.
Pernas sem fadigas. Olhos para a pincelada de luz. Tirou a capa e pô-la no braço. A chuva voltou a cair. A chuva empurrava-o com o vento. Companheiros.
Correu mais ainda.
O coração galgava-lhe. Mas não era de cansaço. Era da certeza de vencer. Da certeza de subir. E o filho lhe agradeceria. O marulhar das árvores gritava-lhe incitamentos, caminho
além.
Sempre mais - mais ainda.
Os pés resvalaram-lhe. O corpo fez-se pesado, pendeu sem jeito e caiu. Beijou a lama.
Soldado no front - lama com lama.
Mas o seu raid não era na terra-de-ninguém. Estrada do porvir. Estrada sua.
169
Ergueu-se. Passou a mão pelo rosto e viu melhor o carreiro.
E as trevas eram mais densas.
- Quantas sacas? - Dezoito.
- À entrada da vila há patrulha. Vamos por aqui acima.
Agarrou-se ao varal a instigar a égua. Pés nas poças e na lama. O chicote estalava.
- Vá!
Um casal à beira do caminho. Silêncio. Punho na porta. Apurou o ouvido.
- Sou eu! Diogo!...
Sorriu-se. E para o carroceiro: - Já me conheceu. Aqui fica bem. Não há perigo. Passos, Ranger do portão na soleira gasta. Conversa ciciada. . - Meta a carroça.
170
Mar em Fúria
A guerra invadira tudo. Saltara todas as fronteiras e irmanara os homens - mesmo inimigos.
A guerra não estava só em França, depois de passar a Bélgica. Nem só em África. Viera até ali. E daquele bairro tinham partido maridos, noivos e filhos. Alguns saíram a cantar.
Iam defender a liberdade. Nas trincheiras mudaram de opinião.
O bairro estava de luto.
Mulheres de vestidos negros interrogavam o futuro. Crianças brincavam nas águas podres das valetas, sem saber sorrir. Outras desfilavam de carapuços de papel ao som de marchas
cantadas.
Debaixo daquele arco falava-se da vida. E a morte passava por ali.
- Danados!
- Que raios os matassem a todos!
E as mãos remendavam farrapos e moldavam gestos.
Uma mulher chegou a suspirar. As outras pararam a faina e procuraram resposta nos seus olhos. Depois baixaram a cabeça e foram cosendo. Ela falou.
171
- Nem nada. Nem cinquenta gramas para o meu
menino.
-E que disse o doutor?...
- Que era preciso.
- O Diogo não tem?
- Diz que não.
- Pediste à senhora?!...
- Ora!...
Uma velha esbracejou a dizer iras em voz rouca.
- Têm-no, mas é para eles. Malditos!... Escondem-no pelos cantos para o venderem por quanto querem.
- O pão é amargo e caro. Pão de sêmea. Negro como a minha blusa.
- E nem para esse ganho.
- Se me levaram o braço... Respirares fundos.
- Recebeste carta do teu João?...
- Há três semanas que nem uma linha. Silêncio. Olhos vidrados.
- Algum atraso...
- Eu parece-me que adivinho...
E uma lágrima correu-lhe na face e caiu-lhe na mão.
- E não é coisa boa...
- Credo, mulher!... Não fales nisso.
- E o meu lá está, para o Diogo e para os demais... Ah Deus!...
Outra passou de xaile pela cabeça, a tossicar.
- Vais melhor, Rita?!...
- Melhoras...
Passos incertos de quem não sabe andar. Corpo afilado como tangido pela aragem. No rosto só olhos - olhos negros e brilhantes de febre.
- Faz-te mal sair.
- Já não há que me faça mal.
172
- E o menino?
- Não tenho leite... Vou ver se arranjo.
E mostrou a cafeteira. Encolheu os ombros. Na palma da mão uma moeda.
- Vês?!... Amanhã... Ainda se pudesse ir à fábrica...
- Alguma coisa virá, mulher.
- Do céu?!... Tosse seca.
Os garotos passaram em filas, de paus ao ombro.
- Vem cá, Artur.
O rapaz veio, contrafeito.
- Senta-te aqui. Fartos dela e estes danados a lembrá-la sempre.
As outras mães chamaram os seus.
- Até já.
E alçaram os olhos para a ver seguir. Suspiros. Mento no peito.
Um garoto empurrou outro e a mãe deu-lhe um tabefe. O seu choro ficou a esquecer-lhes as torturas sempre presentes.
Os barcos poucos carregos traziam.
Naquele dia nem uma vela chegara. Da taberna para a ponta do cais os homens andavam num vaivém. Só desenganos.
O rio alindara-se como nunca. Azul de céu-velho com os remendos dos mouchões a marcar contrastes. As árvores da outra margem de metal oxidado.
Velas ao longe -mas velas que não chegavam nunca. Miragens na sua angústia. Esperanças acenadas e logo mortas.
173
Sacas pendidas nos braços, os homens interrogavam o rio. E o rio não lhes prometia pão.
Acolhidas à muralha, fragatas alçavam os mastros nus, como tocadas do mesmo desespero que vencia os moços.
- Virá alguma coisa, arrais João?
- Nun me parece. O que eles recebem é de noite, à socapa. Por aqui...
O cais está como abandonado - e todos os homens ali estão. O silêncio manda. Fala-se por meias palavras. Não há risos.
- Semana torcida!
- E não será a última...
- Chega-se a ter inveja do Gordo.
- Não lhe falta o rancho...
- E algum balázio de sobremesa.
- Às vezes...
Nem o vinho os animou ainda. Esvaziavam os copos - vinho triste.
E o rio está deserto agora. As velas singraram para outra carreira e vão arribar noutros portos.
Nem brancas, nem vermelhas - só o azul que o céu emprestou ao rio. Só a angústia dos homens que não têm faina.
Não irão naquela tarde ao seu bairro. Bairro onde debaixo do arco se fala na vida e a morte passa.
Os olhos bem buscam e rebuscam. Bem miram e remiram. Mas o rio não os pode alentar. Já se ergueu em maré viva e os barcos não quiseram vir no seu embalo. Já vai na preia-mar
e as fragatas não correram a escutar o seu canto tangido nas pedras do cais.
Estrada deserta - mais deserta que o coração dos moços, ainda acarinhando consolos.
174
E o Sol vai tombando. E o Lisboa já canta, entre dentes, sem saber o que diz. Os outros não riem. Aquele companheiro afogou todas as mágoas e todas as esperanças. Sentou-se
na saca, de cabeça pendida, e talvez nem julgue que existe. Para ele o rio não passa ali perto, nem há velas que prometam pão.
- Não lhe vejo jeito.
- Comer as guelras...
Voltam à taberna. O Lisboa já não vai com eles. Fala entre dentes, mas ninguém o percebe.
- Mais uma rodada!
Dão voltas aos bolsos e tiram as últimas moedas. A Maria Coiras entra a cambalear, encosta-se a um deles, afaga-o com a sua mão dura - mão de todos - e pede um copo.
- Pagas?!...
E mostra os dentes negros e incertos, num sorriso de louca.
Insaciável, a devorar energias, a fábrica chama. O seu apelo domina a vila adormecida e galga aos campos.
As mulheres pegam no xaile e saem a mastigar a côdea do pão de mistura. Vão a passo ligeiro, que o portão não se abre para as que chegam mais tarde.
Levam no corpo as fadigas da véspera. Levam nos olhos as amarguras de sempre.
Noite ainda. As luzes já se apagaram - economia de guerra. E o Sol não virá tão cedo, nem chegará talvez. Chuviscos.
Vão entrando pela bocarra, faminta de energias. Os seus risos falam de tragédias. Os seus pés ressoam no empedrado do pátio e têm ecos lúgubres.
175
A buzina lança o último grito. Há mulheres que correm, tairocando para não perderem a féria. E o portão cerra-se. Duas ainda ouviram os ferrolhos pesados e ficaram a olhar
o portão, compreendendo o destino do dia.
E voltam pelo mesmo caminho, mais mirradas, como se ouvissem a bramação em casa.
Lá dentro tudo se move. Giram os tambores e fogem as correias. E os teares não param. As mulheres também. Tudo tocado do mesmo frenesi de loucura.
As palavras são gritos hostis. Para matar o tempo e esquecer penas há bocas que querem cantar. Mas da gerência veio ordem para que se trabalhe em silêncio. Só se ouvem as
canções dos teares.
O mestre passa. E com ele a dúvida. É que mestre Tomás nunca se farta de mulher nova e vai escolhendo à vez. Prefere as maneiras e roliças, mas também não enjeita as de outra
escolha.
- Vá lá!
E foi ajudar a Laura que há pouco saiu da aprendizagem e não tem aí mãos espertas para aquele serviço. As companheiras trocam piscadelas e sorrisos.
- Aquela qualquer dia...
- Por ali não se governa ele. É arisca...
- Se fossem todas...
- Pois sim.
Os braços andam há tempos mais trambolhos. A féria chega menos. As "coisas" subiram e a jorna é igual. E as mulheres não pensam só no trabalho - pensam na vida. Tudo escasseou.
Açúcar é para rico, e o Diogo e os outros têm-no guardado à espera que o preço suba.
O ódio por mestre Tomás quebrou-se mais. Oferecem-no a dobrar aos que gradeiam a vida e lha recusam.
176
A praça fez-se e nenhum homem saiu. Não houve quem os alugasse.
As mulheres não adregaram outra sorte. Da praça da vila as mesmas novas - trabalho escasso.
Ficaram todos juntos, no adro da aldeia, a falar da guerra. Os do Lugar de Cima não abalaram. Entre eles as hostilidades morreram para se sentirem irmãos.
- É meter por esse monte e comer pedras.
- Nem erva é de graça, se algum a quisesse.
- Ainda no campo há mostarda. Aqui...
Dia pardo. Dia contaminado pelas inquietações dos homens. Mãos desajeitadas, saudosas do contacto da enxada ou da foice. Corpos derreados ao peso de torturas presentes.
Nas lojas da vila o rol fechara-se. Não se dava avio aos que não levavam dinheiro.
Lareiras apagadas. Nem pão duro nas arcas.
E o Reco falou por todos. E todos o compreenderam. Os dali e os do Lugar de Cima.
Riacho nascido no adro da aldeia. E foi engrossando no caminho. E fez-se rio.
Vivo e chocalheiro, o sino tocou a rebate. E não deixou de badalar, como se toda a vila ardesse na fúria de fogo ateado. A vida suspendeu-se - só o sino falava.
Ansiosas, as mulheres debruçaram-se nas janelas, a indagar. E os homens saíram em direcção à praça, para poderem contar melhor o que se passava.
- Onde é?!...
Mas o carro da bomba não tocou a sineta. E as portas das lojas fecharam. Inquietos, os caixeiros ficaram por detrás das armações e nos armazéns, a escutar o ruído da multidão,
agitada como um mar.
177
O sino não parara ainda - no seu apelo angustioso.
Compreenderam-no as mulheres daquele bairro, os homens do cais e as mulheres das fábricas. E correram como arroios a engrossar o rio que descera do adro da aldeia. Confundidos
todos. Todos um só.
E uma voz gritou. Outras juntaram-se-lhe. E gritaram em uníssono, como voz única.
- Pão! Pão!
Toda a vila compreendeu porque o sino tocara.
O marçano veio dar a notícia, afogueado da correria. Contou que tinham entrado na loja do Sebastião Cunha e levado tudo.
- Abriram as torneiras do azeite e do petróleo. Partiram as armações.
Os fregueses que estavam saíram apressados para não se verem metidos naquilo. A guarda não tardaria a intervir.
Cerraram as portas. Ele dava ordens, querendo aparentar sangue-frio, mas o rosto desmaiara mais. Acarretaram as trancas e meteram-nas das portas ao balcão. Sacudiu-as a experimentar.
- Está fixe! Só se deitarem a casa abaixo. Indiferentes à sua inquietação, os caixeiros olhavam-no.
Podem ir. Já não abrimos hoje. Eu fico aqui sozinho. Algum que meta ali a cabeça, nunca mais incomoda outro. Súcia!
- Veja lá se é preciso, Sr. Diogo!-juntou ainda o primeiro-caixeiro.
- Não! Posso bem com eles. O medo nunca me tomou. Saiam para ver o que se passa por aí.
A porta lá de dentro bateu. Só dois raios de luz entravam junto às soleiras. Uma penumbra a cobrir a loja - mais impiedoso o silêncio.
178
Passos em cima - passos do filho. Depois, a sua vozita. E o silêncio da loja subiu e tudo desapareceu.
Mais presentes os seus receios.
Agora que tudo corria bem, aquela canalha à solta. E a guarda não tinha um armazém de balas para os tombar a todos. Verdadeiro roubo. Cada qual com o seu arranjinho, pagando
contribuições para ter loja, e obrigar-se a fechá-la só porque aquela súcia se tinha lembrado de comer sem pagar. A vila era deles. O sino e as lojas; as ruas e a guarda.
Ninguém de respeito podia deitar lá fora, sem receio de agravo.
E para isto se fizera a República. Para isto trabalhara ele e o Sebastião Cunha, que ficara sem pitada de coisa para governar a vida. Ingratos que não reconheciam coisa alguma.
Fossem sós, não contassem com gente de bem a acompanhá-los, e ainda teriam a Monarquia, com o rei e o paço, os escândalos é a bandeira azul e branca. Agora perguntavam o que
mudara. Se era pouco o que se fizera!...
Quando se lhes falava da liberdade, não queria dizer-se que deitassem o terror onde lhes aprouvesse. Que partissem e roubassem. A lei da República era de ordem e trabalho,
de respeito pelos direitos de cada um. Queriam pão, comprassem-no. Se não tinham trabalho, não era ele que lho podia dar, ele que tinha os seus empregados bem pagos. Tudo
se havia de modificar, mas não, era assim. Com tempo e com ordem, alguma coisa se faria. Pouco a pouco, por evolução, como dizia o Dr. Freitas.
Falavam em açambarcadores" Ele não podia entender o que isso significava em língua de gente honesta. Se não havia açúcar e ele, à custa do seu dinheiro, ganho honradamente,
o conseguira, era justo que o vendesse a quem lhe aprouvesse. A pessoas que compreendessem
179
os riscos de toda a ordem que se passavam para o conseguir. E não era isso, afinal, um benefício para o povo!... Ficassem todos os comerciantes de braços cruzados e então
veriam como era. Nem uma pitada de açúcar, nem um pó de farinha. Morreriam de fome.
O silêncio invadiu-o também. Teve um arrepio, como se vento agreste corresse a loja. Sentou-se.
O Baptista estava velho e tinha bom governo para o resto da vida. Já lhe falara no trespasse e aquilo com um aperto do cunhado vinha para melhor conta. Casa com quatro portas
e bem afreguesada. Na rua principal da vila era o caminho natural dos que desciam dos montes. Pelas ceifas e mondas cinco ranchos certos. E com a gente dali venceria todos.
Um bom sortido de especialidades para os de boa mesa e géneros baratos para os outros.
Tabuleta grande com cobertura de vidro - Francisco da Silva Diogo. Letras doiradas com sombras. Fundo negro. Por baixo, pintado na parede - mercearias a retalho e por atacado.
A outra ideia veio e irritou-o. Passeou agitado dentro do balcão.
Cobardia a retalho e por atacado.
Estava ali à espera que chegassem, sem medo dos seus gritos e das suas violências. Vencessem as trancas e tê-lo-iam pela frente.
- Ninguém avança! Quem der um passo, morre!
Voltou a experimentar as portas - firmes para aguentar quatro ombros.
Passos na rua. Passos que rangeram e se foram. Aquietou-se. A primeira cabeça cairia a seus pés, sem um ai. E os outros abalariam rua abaixo. Não faria como o Serafim. Ter
de voltar ao princípio com créditos por
180
favor e olhado com sorrisos e troças. Loja vazia; armação partida.
Sobressalto. Foi a uma das portas e apurou o ouvido. Como o bramir de um mar em ressaca, o ruído chegou-lhe. Eram eles. Encostou-se mais à porta. Parecia-lhe que o seu corpo
a tornava invulnerável. Que lhe transmitia o seu palpitar e os seus argumentos. Que a porta não era uma força passiva, sem vontade; antes alguém que sabia porque ali estava
e tinha uma missão a cumprir.
Vinham muitos - era um mar. As mulheres da fábrica e os homens da aldeia. Os homens do cais e as mulheres daquele bairro por onde a morte passava.
Ressaca que já não era sussurro. Temporal que vinha crescendo e lhe enchia os ouvidos com os seus gritos estridentes e roucos. Mar bravo. Mar em fúria.
Se o pudesse ver, não o reconheceria. Os suspiros tinham-se feito ódios. E os ódios não se fechavam no peito, como no adro e debaixo do arco, como no tear e na ponta da muralha,
ódios gritados. Recalques à solta. As mulheres de luto gritavam pelos filhos que não chegariam mais e tinham partido a cantar.
Voltou-se. Estava só. Um frio passou-lhe no corpo. A porta não o compreendera. Tacteou-a com as mãos e foi recuando aos poucos. Um grito maior bateu-lhe no peito. Como a ponta
de um machado que rasgasse a porta e lhe expusesse a loja à fúria daquela gente.
Num salto estava-lhe junto. A ampará-la, a dar-lhe os seus rogos. E os gritos avançavam, a submergir tudo, como uma cheia grande. Cheia que queria afogar o futuro.
Ouvia-lhes a respiração - uma respiração só. Arfar de uma boca capaz de engolir o mundo.
Os abalos do corpo eram mais fortes que o desejo de ficar. Luta íntima. O olhar da multidão penetraria
181
a porta e ia descobri-lo ali. As fúrias redobrariam. E as mãos das crianças ganhariam ganas de gigantes. Essas bastariam para arrastar a muralha que se erguia entre eles e
o seu futuro. Ali seria um alvo. Um marco onde colocariam os olhos e achariam estímulos.
Deu um passo e as )otas rangeram no azulejo. Res-soaram-lhe como uma delação.
E o mar avançava. Mar bravo. Mar em fúria.
Tempestade que o arrancara de junto da porta e o levava para o fundo da loja, sem ele querer e sem a contrariar.
Sentou-se numa saca. Estranho de si mesmo. O corpo sem vigores - só abalos. Procurou a pistola nos bolsos, rebuscando-os.
Onde a deixara?...
Se adivinhassem que a não tinha, tudo perdido. Teriam ímpetos ignorados e nada restaria da sua luta de anos.
O peito arfava-lhe, como se viesse de longa caminhada. Passos lá em cima - passos de corrida. Choro do filho. Na rua julgariam que era ele quem chorava.
Francisco da Silva Diogo - cobardia a retalho e por atacado.
Um estrondo nas portas. Ódios mais gritados. O balcão rangeu e clarões de luz entraram pelas frinchas abertas. Noite de relâmpagos.
Rebuscou nos bolsos - não tinha a pistola.
Os gritos envolveram-no -cortaram-lhe a retirada. Não o deixavam sair dali. Um clarão maior. Viu rostos estranhos, olhos esgazeados e faces vermelhas. Bocas raivosas a correrem
para ele e dizerem-lhe, cara a cara, amarguras recalcadas. Bocas dissolvidas na escuridão e
182
logo nascidas na escuridão. Rodeado pela vertigem daquele carrossel de imprecações:
- Ladrão! Ladrão!
A porta cedia. Uma pedra caiu-lhe aos pés, depois de um tilintar de vidros. Mais pedras vieram. Deitou-se no chão - ouvidos atentos, respiração incerta.
Lembrou-se do Dionísio. Aquele sim, não voltava a cara ao mais pintado. Abrir ele mesmo a porta e mostrar-se.
- Eh, gente! Aqui estou!...
Braços abertos a tapar a entrada. Um sorriso de confiança.
- Então?!...
Mãos vazias de cacete ou pistola - mãos cheias de vigores.
- Quem quer que avance!
E os que viessem, tombariam a seus pés. Os outros hesitariam - sem gritos. Vencidos. Uma fila, por aí abaixo, de cabeça pendida. Ele saltaria para o meio da rua a chamá-los.
A porta seria o seu peito. Não havia ombros que a fendessem. Mas ele não era Dionísio. Dionísio havia um e já se fora. Mirrado e velho pelos anos de enxada.
- Ouve lá, ó valentão!...
Puxava a cinta arriba e quem as tinha é que as jogava. Mas o Dionísio, se vivesse, não estaria ali dentro com ele. Envolvido com os outros lá de fora, a abalar-lhe as portas
com os ombros. O Dionísio passara a vida a ser servo - servo de todos, menos de si. E ainda bem que morrera. Porque sozinho valia um mar de gente.
Compreendia agora que tomara outro caminho. Nascera como o Dionísio e subira. Nascera formiga, como o Seu Isidro, e fizera-se homem. Homem que não via as formigas.
183
As portas rangiam. As pedras batiam no balcão. Erguer-se e abrir as portas.
- Irmãos! Tomai tudo, porque tudo é vosso!... Tirar também das tulhas a sua parte. E ir com eles.
Pegar na enxada e trabalhar - de sol a sol. Voltar a casa derreado, falar à mulher e afagar o filho.
Pensamento parado.
Mas a vida é de quem tem querer. A vida era aquilo mesmo. Uns formigas - outros homens. Os que estavam lá fora não eram seus irmãos. Ele caminhara e vencera. E a vida é dos
que a vencem. Que a vencem, vencendo os outros, sem olhar como.
As imprecações eram mais gritadas. Os clarões mais vivos.
- Ladrão! Ladrão!
Foi de rastos até ao armazém. As bocas perseguiram-no, mas ele rompeu o círculo dos seus ódios. Ficou longe dos rostos desvairados com olhares turvos.
Mais tilintar de vidros - brados lá em cima.
Um estrondo maior, como se a porta se tivesse estilhaçado. Via-os entrar de roldão e levarem-lhe tudo. Lutarem pela posse do seu futuro e esmagarem-no nas mãos. Se o encontrassem
ali...
Saiu para o quintal. A luz do dia feriu-lhe as retinas. Dia de sol - sem sol. Subiu as escadas numa corrida. Deu a volta ao puxador - fechado. Bateu. Só o marulhar da multidão.
Bateu com frenesi. Como se viessem sobre ele para o arrastarem como um troféu da sua fúria.
Quis gritar - não teve palavras. Bateu mais. Vieram passos abafados. Meteu o ombro à porta. Socou-a com os punhos.
- Sou eu!...
A sua voz ressoou-lhe como a dos que estavam lá fora.
- Sou eu!... Depressa!...
184
Boca sem saliva. Passou a mão pela testa. Quente. Alguma ponta de febre. Cabeça em rodopio.
- Sou eu!... Abre!... Passos apressados. Ralhos.
Entrou a cambalear e atirou-se para uma cadeira. A afilhada de olhos chorosos a mirá-lo.
- Que é que queres?!...
Vontade de lhe dizer que não tivera medo. Explicar-lhe tudo. Berrou-lhe.
- Porque é que choras?
Voltou a si. Calma falsa. Passou os dedos no queixo.
- A madrinha?
Num suspiro ela indicou-lhe para dentro. Acenou-lhe a cabeça. Estendeu-lhe a mão e puxou-a a si. As lágrimas da afilhada molharam-lhe a face.
- Malditos! Fazem o que querem e ninguém lhes vai ao caminho.
Vista toldada.
- Tudo a saque...
Afastou-a, afagando-lhe os cabelos. Meteu pelo corredor, espreitando nos quartos. A garota tomou a dianteira e conduziu-o.
Parou defronte do espelho. Envelhecera. Cabelos desalinhados, rosto lívido. Testa enrugada. Dez anos vividos numa hora.
Retomou o passo.
Escuridão. Só a luz da lamparina. Um crucifixo.
"Quantas vezes dissera que não queria aquilo? Era liberal. Não acreditava naquelas coisas. Que diriam os outros, se soubessem?"
As portas não tinham cedido. Continuavam a forçá-las. Ganhou esperanças.
- Que é?...
185
Voz frouxa.
- Ainda não arrombaram.
- Estou a pedir por nós. Deus vai proteger-nos. Ficou sem forças para lhe falar. Hesitante nas suas
convicções. E se houvesse Deus?!... Alguma coisa havia a mandar no mundo. Mas quem excitara aquela gente?!... Deus também?...
Interrogações sem resposta.
- A fé, Diogo. É preciso ter fé.
Que era a fé? Ele tinha-a, mas no futuro. Fé abalada com o abalo das portas.
O filho veio para junto de si.
- Que querem eles, paizinho?
- Gente má...
- Mas que querem?
- Fazer mal!
- À gente?
- Sim.
- E que mal fez o paizinho? Não lhe respondeu.
- O Pai do Céu não ralha com eles?...
E apontou o dedito para o crucifixo, mal definido na chama frouxa da lamparina.
Na rua, os gritos eram mais estridentes e roucos. Confundidos todos num só desejo. De uma das portas caíra um pedaço. E uma mulher agitava-o nas mãos descarnadas, a mostrá-lo
aos homens, como a dar-lhes mais forças.
A arfar, ensuados, não paravam. E outros marcavam-lhes o ritmo.
- Vá!... Vá!...
Aquele defendera-se bem. E a cada desalento, as mãos pegavam em pedras e atiravam-nas aos vidros que restavam.
- Vá!... Vá!...
186
Um tiro atroou. Depois outro. A multidão volveu os olhos à procura.
-A guarda! A guarda!
A calma voltara-lhe. A noite descera.
Jantaram em silêncio. A mulher, ainda inquieta, afagava-o com o olhar. E desvelava-se mais à volta do filho, amimando-o.
Puxou do cigarro e pôs-se a ler o jornal. Mas só o lia com os olhos. Tinha ainda presentes os apupos e as iras da multidão. Tudo passara. Podia continuar o seu caminho.
- A fé, Diogo, Deus olhou por nós...
Não a contrariou. Sentiu-se alquebrado nos seus ímpetos de liberal. Mas pensou que fora a guarda quem prestara o grande serviço.
Deus e a guarda - protegendo o seu futuro.
187
Mocidade esperançosa
Estavam quinze talheres - iam todos e mais o Lopes. O Lopes era o único lançado na vida e o que não tivera nome no jornal, noticiando-lhe a passagem do ano, com adjectivos
rebuscados pelo Pinto, na Semana Elegante da Voz do Tejo. Era ele quem compunha em 10 redondo, esmerando-se, não passasse alguma gralha, os triunfos dos amigos.
"Passou o 4º ano do Curso Geral dos Liceus, com um magnífico aproveitamento, o nosso conterrâneo Eduardo Antunes Diogo, extremoso filho do nosso particular amigo e conceituado
comerciante, Francisco da Silva Diogo. Moço inteligente, muito há a esperar das suas excelsas qualidades e do seu amor à nossa ubérrima região."
E o mesmo do Ferreira, que já passara a Matemáticas, do Coutinho, que ia para agrónomo, e dos restantes onze que seguiam doutoramento ou curso semelhante.
Mas os outros desejavam-lhe a companhia, porque "tinha umas coisas acertadas" e a sua presença ia bem num grupo de rebeldes. Ele era como o elo que unia a inteligência à acção,
o intelectual ao povo, no dizer do
188
Pinto, que ia cursar Direito e era verboso como um reclamista. Quando ele falava, fazia-se silêncio. Nenhum tinha argumentos para o rebater, embora notassem que entortava
quanto lhe aprazia em favor das suas teses, gesticulando em atitudes soberanas. Só o Rocha mostrava o seu sorriso desdenhoso e afirmativo aos outros, que ele era oco como
um sobreiro roído nas entranhas.
Nenhum faltava.
O Fróis da pensão é que viu a hora passar e pôs-se de atalaia, à janela, contrariado pela demora, que prejudicava o puré de grão e a caldeirada à fragateira, pouco própria,
em seu entender, para um jantar. Mas ele não podia compreender os motivos imperiosos que levaram o António da Fonseca a escolher aquele menu.
O Chico Meireles também não cabia de indignação com o atraso.
-Quando comerem já vem tudo sem graça. E eu que me esmerara tanto com os senhores doutores.
Mastigando pedacinhos de pão torrado o Meireles olhava o relógio e batia o pé.
- É um princípio a estabelecer e que ainda não assimilaram completamente. A pontualidade é o começo de tudo. Sem pontualidade não há organização; sem organização não há planos.
Os Ingleses nisso...
O que o Chico Meireles esquecia é que os discursos fazem tanta falta num jantar como o circo numa feira, ou o grão num puré do mesmo, e é preciso estudá-los bem, fixando citações
de nomes consagrados, sem o que as palavras não ganham convicção.
O Eduardo Diogo já passara, a saber se tinham chegado. Era o mais novo do grupo e não queria faltar à hora. Mas não se dispôs a subir quando soube que só estava o Chico, um
emproado que o olhava de cima e lhe falava por mercês.
189
E puxando por um cigarro, encostou-se à ombreira, à espera dos outros.
O Lopes não demorou. Vinha como passado a ferro, impecável no seu fato preto. Trazia uma nota discordante - uma gravata vermelho-viva com pintinhas negras. Era a nota rebelde.
Como o estandarte das suas reformas.
Conversaram.
O Diogo, em meias palavras, concordando sempre. O outro, exuberante de pensamentos, a gritar, aos que passavam, frases compostas no encosto das caixas da tipografia.
- O Simões traz surpresa pela certa. E plano largo. Falou-me nisso por alto.
- Vai um cigarro?!... Passou-o nos dedos e cheirou. -- Gola Flake.
- Isto é bom, Seu Eduardo!... E bateu-lhe nas costas.
- Que curso segues?
- Ainda não sei. O velhote inclina-se para a Veterinária. A mamã acha que médico é mais bonito. Francamente, não sei. Médico é mais vulgar. Mas a mamã diz que tem doutor.
- Eu atirava-me à engenharia. É o futuro. Há grandes obras a fazer. A civilização pertence aos engenheiros.
Ficou-se a pensar num artigo com aquele título. E repetiu:
- A civilização vai pertencer aos engenheiros. Com os seus planos vão destruir tudo. Hã?!... Construção destrutiva. Eu sou pela destruição de tudo. Depois a engenharia a traçar
os planos de um mundo novo. Métodos novos em tudo. Que achas?!
190
O outro acenou-lhe a cabeça, sem saber discordar.
- A violência é que fez sempre revelações grandes no mundo. Sem violência não há paz. Hã?!... Que achas? Nada se faz, nada aparece.
- A violência traz injustiças.
- E a própria justiça não é uma violência?!... Hã?!... Deitou fora a ponta do cigarro. Pegou nos braços
do Diogo, abalando-o.
- Eu confio mais em ti que nos outros todos. Mais nas crianças de berço que em ti próprio. É uma fatalidade da criação. Dentro de duas gerações não haverá povo, porque tudo
será povo. Que achas?!...
- Bem!...
Chegou um grupo de quatro. Subiram as escadas. O Chico Meireles recebeu-os com o seu ar frio, roendo um pau de fósforo.
- Querem vocês mudar o mundo. Vão chegar atrasados. Defeito português. A única vez que tivemos o relógio certo foi nos descobrimentos. Depois o relógio atrasou-se e tivemos
o ultimato para ver se nos despertava. Ficámos na mesma sorna. A Inglaterra bem nos quis chamar à vida.
- Ora a Inglaterra!... A pontualidade é uma praxe burguesa. É um reflexo do pagamento das letras. Mas agora começaram as letras protestadas e adeus pontualidade.
- Isso é paisagem - respondeu-lhe o Meireles de expressão enfática. - A pontualidade é a primeira ordem a criar.
- Seria a primeira algema. Criarias a autocracia dos relógios.
Os outros riram.
- O relógio a dominar o mundo. Sua Alteza o Cronómetro I, senhor único e absoluto.
191
- O futuro é da máquina.
- Mas o relógio é uma máquina estúpida. Foram-se sentando. O Serrão, o António da Fonseca
e o Simões vieram a discutir arquitectura.
- Conversa acesa!...
- O Meireles cada vez mais inglês.
- Influência do alfaiate.
Era o seu ponto vulnerável. Os casacos fartos, de tecido grosso e padrão sarapintado.
Influência do sentido prático, nada mais. Com isso os Ingleses fizeram o universo foreiro das suas ilhas. Ali está a cabeça do mundo.
- E o estômago. City...
Com sorriso vitorioso, o Meireles replicou-lhes:
- Em terra de cegos.... meus amigos.
- Passarinheiros que cegam as aves para elas cantarem melhor.
Gargalhada. O Eduardo Diogo delirou. Olhar saltitando de um para outro, queria absorver-lhes as palavras. Algumas sem sentido. Mas desejava que o notassem. E desforrava-se
dos ares superiores do Meireles, o único que parecia lembrar-se dos seus quinze anos, avantajados pelo seu tamanho de homem já feito.
Vieram os restantes. O Fróis ia-os receber à porta, dando-lhes pancadas nas costas, jeito muito seu de satisfação.
- Sr. Doutor... Que horas!... Tudo já sem graça.
- Ora, Fróis!... Os seus pratos estão sempre bons. Quanto mais esperam, melhor sabem.
O Beirão, de cabeleira farta a esmagar-lhe o rosto afilado e branco, concebeu um plano, entrecortado pelo comer do puré.
- Fazer uma grande pirâmide, formidável de proporções, esmagadora de sobriedade, e meter-lhe dentro
192
um pitéu feito pelo Fróis. Para que daqui por séculos se conhecessem estas coisas divinas.
- Isso não é de artista!...
- É de homem!...
- Eu entendo que nada deve ficar desta civilização. Niilismo integral.
- E o plano do futuro?
- Nada de planos. Eu entendo que a maior parte das reformas se perde exactamente pelos planos antecipados. Defeito de trazer o romance para a vida.
O Fonseca instou para que o Lopes desse a sua opinião. Era o representante do povo no cenáculo. O outro abanou os ombros e foi limpando os lábios, a ganhar tempo.
Volveram-se olhos. Traquinar de talheres. A Liberdade, filha do Fróis, foi tirar o prato ao Diogo, que a mirou de alto a baixo, acotovelando o Serrão.
- Eu julgo...
E compôs o nó da gravata.
- Eu julgo que os planos devem anteceder o terramoto. Destruição construtiva. Hã?!... Os engenheiros a traçarem um mundo novo.
- Mas eu falo de planos de reformas sociais.
- Essas virão com os planos dos engenheiros.
- E o povo?!...
- Não haverá mais povo, tudo será povo. Hã?!...
- Penúria total!
- O inverso. Uma civilização nova para os novos. Abundância geral.
O Rodrigues interrompeu, na sua voz batida.
- O futuro é dos artistas. Dos pintores e dos poetas. Será a maior revolução. Revolução sem violências. Revolução do espírito.
- Revolução passiva.
193
- De uma actividade constante.
- Actividade de pincel e lápis - esclareceu o Meireles, irónico.
- E o povo?!... - interrogou curioso o Lopes. - Revolução sem povo ?!...
- Sem povo e para o povo. Quando ele souber compreender as nossas telas e os nossos poemas, tudo o que é velho ruirá. Sem abalos. Porque os que me dão os ombros para aguentar
este cadáver, retirá-los-ão.
- Difícil manobra. Vão ficar esmagados.
- O espírito não se esmaga. Sobrevive a tudo. O homem morre e ele fica. O espírito domina a matéria.
O Lopes entendeu que sim.
- Há que prestigiar o espírito. Estou de acordo, sim senhor. Mas o futuro dado aos engenheiros. E os poemas distribuídos pelas fábricas e esculpidos nas paredes. As telas
expostas nas praças. Hã?!... Que acham?!...
Só o Rocha não arriscava opinião.
O Fróis trouxe uma travessa de caldeirada, enquanto a filha distribuía o pão e enchia os copos. O cheiro invadiu a sala.
- Isto não pintam vocês.
- Mas é o teu espírito que está a concebê-lo. Porque o cheiro não existe.
- Essa agora!...
- Disse-o qualquer que não fixei. Mas é assim mesmo.
Fez-se silêncio de palavras. Cabeças pendidas. Garfos frenéticos.
- Ó Rodrigues, que tal?!...
- Bom! Uma maravilha!
- Uma maravilha espiritual - arriscou o Rocha, num sorriso de intenção.
194
O outro deitou-lhe um olhar duro. O Pinto guardava-se para o final, num discurso todo marcado na memória. Mas entendeu que era a oportunidade de precisar alguns pontos - fazer
escola, como dizia.
- Eu julgo que os oradores vão ter lugar de honra. Conservando o que está, preparando uma evolução ou escavacando tudo. Acho que não é caso principal. Estou disposto a colaborar
com quem vier.
- É cómodo - interrompeu o Rocha, que se dispusera a quebrar o seu silêncio.
- Não é por comodidade, compreendes. Sabes que fui monárquico com a República e evoluí. Uma evolução coerente. Não me vendi.
- Ainda não te quiseram comprar...
- Mesmo que o queiram. Colaboro com todos, porque não tenho o espírito tacanho de grupo. Não reconheço grupos.
Tomara calor e esquecera a caldeirada.
- Ficarei como força neutralizadora de todos os excessos. Oposição sistemática, mas amiga no fundo.
- Serás o cínico de todas as peças que se representem.
- O vilão será melhor.
- Se preferes...
- Os oradores moldarão o mundo.
- Palavras!
- Esqueceste que foram eles que fizeram a República.
- República de palavras, que ficou em palavras.
- O povo não estava preparado.
- Eu acho que foram os chefes.
- O povo está sempre preparado - arriscou o Lopes em voz baixa.
195
- Isso é demagogia - esclareceu o Rodrigues. - O povo precisa de compreender os artistas. Os artistas modernos. Os que não pintam para os olhos, mas para o espírito. Os que
fazem poemas mais para além da vida.
- Poemas para almas do outro mundo - respondeu o Rocha numa gargalhada.
O outro encolheu os ombros com modo superior e continuou:
- Aquele livro do Costa Pires em papel quadriculado. Os burgueses ficaram de banda. Pior que quantas greves revolucionárias. Quando todos souberem assimilar aquelas palavras:
"Para além de mim não há estradas. Todas as estradas começam e terminam em mim. O mundo sou eu. Para além só vejo as nebulosas de mundos distantes. Mas que sou eu?!..." Pedaço
sublime!...
- De clareza, sobretudo.
O Pinto voltou ao fio do seu pensamento.
- Foi pena que o tivesse escrito. Num discurso ganhava outra convicção. O discurso é mais sincero.
- O discurso vive mais da sonoridade que do pensamento.
- Nada como os factos. Método inglês. Poucas palavras...
- Influência do alfaiate.
A conversa azedou-se. O Meireles entendia que era garotice fazer graça, quando se falava daqueles assuntos. O Ferreira achava que o Meireles era burguês, com a mania dos factos
e da pontualidade.
O Fróis pensava que os Srs. Doutores tinham bebido em demasia e perdiam o lustro.
O último prato correu em diálogos curtos. O Eduardo Diogo é que arranjou verbosidade. Falou de mulheres. Asseverou ao Lopes que não havia outra mais meiga que a Esperança
do 89. Estava perdida por ele. Se fosse de
196
qualidade, dava-lhe tudo. Até queria pô-lo por conta. Um assombro!
Via os outros esfumados por um nevoeiro que lhe tapava os olhos. Teve soluços e amargos de boca. Levantou-se a cambalear e cochichou ao ouvido do Fróis.
Gargalhadas.
Vieram mais jarros de vinho. O Meireles engolia a Liberdade com os olhos. Achava-a um apetite de moça. E parecia-lhe que lhe tinham posto o nome em homenagem à Inglaterra.
O Rodrigues esquecera a redenção da humanidade pela arte. O Pinto fizera-se mais verboso. O Lopes falava alto como num comício. E o Ferreira declarava ao Rocha que aquilo
afinal era tão burguês como um banquete de homenagem.
O Eduardo Diogo voltou, muito lívido, a sorrir-se.
- As azeitonas deram-me volta ao estômago. Estava tão bem disposto!... Diabo!...
Risos. O Fróis veio bater-lhe nas costas.
- Se o papá sabe!... Rosto afogueado.
-Ora!...
Desejos de desfazer o corpo miúdo a pontapés. Puxou da cigarreira e estendeu-a ao Lopes, olhando-o de lado.
Apelos de silêncio. O Simões levantara-se de papel em punho.
- Meus amigos!
Parou a fitar o Pinto e o Ribeiro, que bichanavam. O Fonseca interveio.
- Meus amigos! A nossa geração contraiu um dever: transformar o que é velho em novo, o que é caduco em vigoroso. As palavras não bastam. É preciso acção.
- Apoiado!... - gritou o Meireles, como acordado do seu recolhimento.
197
- Entendo que se tem de criar uma nova mentalidade.
Aplausos.
- Nisto todos estamos de acordo. É preciso que tomemos o nosso lugar. Para isto nada melhor que um jornal. Um jornal de combate, com que se abra caminho sem piedade.
O Pinto empalideceu, confrangido. E a voz do Simões ganhou calor no traçar de todo o seu programa.
- Por mim estou disposto a tomar as responsabilidades que entendam. Secções variadas em que se não soletre, mas se diga. Tudo está por fazer. Desde a música à arquitectura;
desde a pintura à poesia. Julgo que poderemos iniciar um movimento irradiante. Todo o País ouvirá a nova poesia e compreenderá a nossa mensagem.
- É o meu plano - ciciou o Rodrigues. E vibrante:
- Muito bem!
Distribuíram tarefas. O Pinto esboçou um estudo sobre a influência dos tribunos nos destinos da humanidade. Citou Demóstenes. O Lopes prometeu criar uma secção "A voz do povo",
onde falaria pela sua gente. O Meireles trataria de crítica literária.
- Hei-de derrubar todos os bonzos, minando-lhes os alicerces. Sem espalhafatos. Processos frios, mas definitivos. Calma.
Aventaram títulos. O Ribeiro falou em Chicote. O Rodrigues em Era Nova. O Coutinho em Seiva.
Resolveram marcar uma reunião para se tratar do assunto. O Diogo ofereceu a casa para a assembleia, desejoso de dar alguma coisa, já que não marcara secção nem se sentia capaz
de a criar.
- E tu, ó Rocha?... - indagou o Simões, contrariado pela indiferença daquele companheiro.
198
- Eu penso...
E calou-se. O outro embaraçado. Aquele sorriso azedava-o.
- Ou melhor: eu pergunto...
- É uma reunião preparatória. Podes pôr todas as dúvidas.
- O dinheiro?
Olhares trocados. Encolher de ombros. O Simões ensaiou explicações com as mãos e nada disse.
- Quanto levam de compor e imprimir? E o papel? O Pinto ergueu-se num assomo de energia, revoltado
com o silêncio do Simões.
- Eu julgo que isso é secundário. Absolutamente secundário.
- É uma opinião...
- Uma opinião sensata. O que interessa, em primeiro lugar, é saber se todos reconhecem a necessidade e prestam a sua colaboração. Assenta-se a directriz, escolhe-se o nome...
-E como o dinheiro não cai do céu...
- Um comerciante não falaria de outro modo. Quanto custa? E o dinheiro? Sempre o dinheiro!
- Eu julgo que é assim mesmo. Se jogares as cartas, podes pôr na mesa o teu chapéu ou o relógio que não ganhas a partida. Quando alguma coisa custa dinheiro, só o dinheiro
resolve.
- É claro que não vamos esquecer isso - intercedeu o Simões já refeito. - Mas falemos no assunto em si. Concordas?...
Menear de cabeça. Beiço estendido.
- Acho que é um pano quente. E isto de panos quentes... Não resolvem problemas. Vocês falam em arte nova, idade nova, era nova. Mas pelo facto de as coisas serem feitas por
nós, pelos novos, pela mocidade esperançosa,
199
como por aí se diz, não vamos a supor que se abala o mundo com utopias. Em primeiro lugar, há que definir se queremos ficar artistas ou se desejamos ser homens, antes de todo.
Na segunda hipótese, voltemo-nos para os homens. Na primeira... Cada um acabará descarrilado, a olhar para si próprio e para as nuvens.
- Liberdade ampla.
- A liberdade, como vocês a concebem, é um gracejo. Leva à metafísica.
Na cabeceira da mesa iniciou-se um coro. O Fróis perdeu a carranca, porque lhe parecia que a conversa tomava mau rumo e não gostava de discussões. O Rodrigues formou grupo
a um lado e fez a proposta-uma
ida a Lisboa de automóvel. O Olímpia estava esplêndido. O Galo de Ouro tinha uma coplista que era uma divindade.
- Quantos carros?
Contaram. O Eduardo Diogo falava no 89 e na Esperança.
- Um assombro!
Sentia-se crescer aos olhos dos outros. Naquilo não lhe levavam a palma. Disse pormenores. Deu biografias.
Na rua soaram buzinas. Enfiaram escada abaixo. A Liberdade foi levantando os copos, a cantar o "Pato". Esganiçou-se para que a ouvissem bem - lembrava-se das miradas do Chico
Meireles, todo embevecido a devorar-lhe o peito.
O Rodrigues dera para o sentimento. Tomara o braço do Rocha e falava-lhe das suas amarguras.
- Às vezes, desiludo-me. Acho que é missão muito grande para tão pouco. Mas nem por isso deixo de reconhecer que o espírito paira acima de todas as coisas.
- Mesmo acima daquele vinhão do Fróis?
Hesitou. O outro riu-se.
- Decididamente não se pode falar contigo. E enfiou pela porta do carro, furioso.
- Um atravessado, esse Rocha. Sempre de banda com tudo. Como se há-de fazer alguma coisa?...
201
Ascensão
O marçano deitou a cabeça e pediu licença para entrar. - Está lá fora um senhor das farinhas.
- Que entre.
Arrumou uns papéis ao lado e compôs a gravata. Levantou-se e veio à porta recebê-lo. O guarda-livros ergueu os olhos e cumprimentou o senhor que passava.
- Não é preciso anunciar-se. Esta casa é sua.
- Se fosse...
- Estava servido. Isto cada vez dá menos. Sentaram-se.
- Então esses negócios?
- Nada bons, Sr. Diogo. Ficou a freguesia de escolha e pouco mais.
- Havia muito comerciante. Todo o bicho-careta fazia comércio. É preciso nascer-se com os dedos nisto. E mesmo assim... O freguês de balcão é incerto. Antigamente aviava-se
numa casa até morrer. Hoje...
- Outros tempos...
- Maus tempos! Olhe que eu sou amigo do progresso, mas acho que isto foi depressa de mais.
202
O viajante acenava a cabeça. E pensava nas amostras que trazia na pasta.
- Toda a gente fala. Todos se queixam. Eu julgo que a queixa é uma consequência do progresso.
- Sim, sim. É uma coisa sem limites. É já uma ladainha.
- E nós é que pagamos. Antigamente havia gente séria. Olhe que o livro de fiados era quase uma coisa sagrada. Recebia-se sempre. Hoje...
E franziu o rosto.
- É o diabo! Não chega... Não chega... Esta semana o meu marido não ganhou... Só se fizeram dois dias a seis... Uma cantiga geral.
- Ladainha.
- E o que é facto é que eles não faltam em banda nenhuma. As poucas vezes que vou ao cinema, lá os encontro. Ainda não há muito, quis lá ir e não tive bilhete.
- É assim mesmo!
- Andam por aí como príncipes. Ora isto... Silêncio. Conversa esgotada.
O viajante voltou a pasta nas mãos. Ele matraqueou os dedos no tampo da secretária.
- Então que o traz por cá?...
O outro levantou-se, solícito, busto curvado em vénia permanente, e dispôs as amostras.
- Farinha de primeira. Passou-a entre os dedos. -Que tal?...
- Não parece má.
- Finíssima! E para o Sr. Diogo faz-se um preço... Sorriram.
203
O telefone retiniu.
- Sim... Ah! Um momento.
Fechou a porta e acendeu um cigarro.
- Já tão cedo? Como um galo. Uma gargalhada.
-Certamente!... Repete, faz favor. O telefone está impossível. Sim. Sim. Pois sim... Mando hoje. Sem falta! Descansa! Talvez depois de amanhã aí vá. Querias hoje? Sinceramente?...
Não posso. Os negócios...
Corpo inquieto. Relanceou o olhar. Um beijo no bocal.
- Recebeste-o bem?... Depois te darei muitos. Triste porquê? Ora!... Se pudesse, estaria sempre ao pé de ti. Sabes bem... Adeus, Elisa. Adeus. Sim... Adeus. Não esqueço...
Puxou do livro e tomou a caneta.
- Pague-se a... Vai ao portador. Hã, hã, hã... Quinhentos escudos...
Recostou-se no fauteuil. Sorriu.
"Um amor. Com uma graça!... Daquelas coisas que vêm sem se saber. Conversa de duas ou três vezes... Hoje não tinha dúvidas. Doida por ele. Um encanto..."
Puxou do espelho e mirou-se. Dedos nas sobrancelhas.
- Já fechou o mês de Março?
O Soares levantou os óculos para a testa e ficou-se a piscar os olhos.
- Falta pouco. Amanhã...
- O Carrilho & Neves? Mãos sem rumo.
- Escreveram?
- Que têm dificuldade.
- Mande para protesto.
- A...
204
- Não falemos mais. Mande! Estou farto de promessas. De promessas está o mundo cheio. Tenho os meus compromissos.
- Bons clientes...
- O senhor chama-lhes bons clientes? Estava servido se me guiasse pelos seus conselhos.
- Pagaram sempre bem...
- O passado não conta. O que lá vai, lá vai. Fizeram a sua obrigação. Forneci-lhes; pagaram. É a lei do comércio.
O guarda-livros baixou os óculos e voltou à escrita.
- Foi ao Dr. Barbosa? Aceno de cabeça.
- E que disse?... É preciso estar a lembrar-lhe tudo. Que faz o senhor aqui?
- O homem não pode pagar... Pede...
- Todos pedem. E que peço eu? O que é justo! O que ganhei com o suor do meu rosto!
E numa resolução.
- Execute!
- Tem pouco mais que os móveis. Um balcão tosco... Uma armação...
- Traga. Nem que fosse um prego. Para se habituarem a cumprir. Se o Sr. Antunes voltasse a este mundo... Isto já não é comércio.
Passeio agitado. Mãos íiás axilas. Dedos tamborilando o peito.
- Vamos bem. A continuar assim, não o poderei manter.
O Soares suspirou.
"Quatrocentos escudos. Mulher, três filhos... O mais novo doente..."
Corpo mais mirrado à secretária. Soma de balancete com uma sentença daquelas.
205
- A Mercantil baixou um tostão no açúcar.
- Acompanha-se! Abriu a gaveta.
- Isto é que estão uns apuros... Já sabe como é. Recomendação a todos. Vai-se no peso. O Costa?
- Foi ao armazém carregar a caminheta do Pereira.
- Está bem. Letra aceite a quinze dias.
- O Sr. Soares já tratou disso.
- Bom!
Deu volta às tulhas.
- Isto sempre bem cheio. Não tenho necessidade de dar más impressões aos fregueses. O rapaz que faça esse serviço. Ande-me em cima dele. Se for preciso, chegue-lhe.
O Marques entrou com o seu ar galhofeiro. Tossiu ruidosamente e puxou do lenço.
- Bom dia.
- Ainda agora?
-i Acabei de largar a cama. É uma maldição. E espreguiçou-se.
- O Fróis tinha ontem à noite uns berbigões... Depois uma carne de porco...
E voltando-se para o caixeiro:
- Uma onça do meu e um livro de mortalhas duplo. Não fazes ideia. O Jerónimo trazia com ele um rapaz do Ultramarino. Que voz!... O Menano não faz mais. Foi toda a noite!
- Acabou em serenata?
- É sempre o mesmo fim. As Pires vieram à janela em roupas de baixo. Da casa do Severo até deram palmas. Foi a Helenazinha, com certeza. É um diabo. E uma coisa!... A rapariga
está de virar cabeças. Se a visses no
206
baile da pinhata... Ó menino! Dizem que o filho do Meireles é que se atiça. O rapaz tem olho.
- Estás sempre novo.
- E já me pesam bem mais do que a ti. Já cá estão quarenta e nove.
- Tenho mais preocupações. Levo outra vida...
- Eu tenho só uma preocupação: gozá-la. É a única coisa que exijo.
Mão estendida, um pedinte entrou, arrastando as botas sem tombas.
- Pelo amor de Deus, meus senhores.
Manta rota ao ombro, chapéu sebento na canha.
- Trabalhei toda a vida...
- Fez mal!-respondeu-lhe o Marques, a sorrir. - Pelos vistos não tirou resultado.
Sorriso amargo. O Diogo voltou-se para o caixeiro.
- Dê aí um tostão a esse homem.
-Obrigado, meu senhor. Pelo descanso dos que tem no Céu.
Aquela cara não lhe era estranha. Para lá da barba crescida, e quase branca, havia outro rosto. Mãos calosas, descarnadas e débeis. Só lhe via os olhos. E ali por baixo estiveram
umas bochechas que tinham desaparecido. Cara de rato-cego. Onde viveram sorrisos, havia uma amargura bem vincada.
- Ponha o chapéu.
O Marques deitou fora a ponta do cigarro e o pedinte foi apanhá-la. Desfê-la nos dedos e guardou o tabaco numa caixa de folha. Como notasse o olhar do senhor, teve como um
jeito de desculpa.
- É um vício...
- Quantos anos tem?
- Quase sessenta.
Lágrimas nos olhos. Cabeça trémula pendida no peito.
207
- Trabalhei numa casa destas. Trabalhei até poder. A vida enjeitou-me sempre. Nestas mãos passaram muitas sacas como aquela. Depois o caruncho veio...
O Tomás carteiro entrou.
-Francisco da Silva Diogo!
E entregou-lhe um maço de cartas e postais. O pedinte ergueu o olhar. Acenou a cabeça e arrepanhou a ponta da manta.
- Uma vida inteira. Nunca juntei um pataco. Vi subir muitos... Outros ficaram pelo caminho...
E os seus olhos encontravam recordações naquele rosto. Passou as pontas dos dedos na barba, franzindo a boca mal desenhada. O Marques pôs-lhe a mão no braço, como a convidá-lo
a acabar as lamentações.
- Tenha paciência. Que lhe havemos de fazer?
- É bem verdade... Que lhe havemos de fazer? É sempre assim...
Como derreado por um peso que lhe caíra nos ombros, o mendigo saiu. E entre os lábios, perdidos na barba crescida e branca, repetia a certeza do seu destino.
- Que lhe havemos de fazer?... Que lhe havemos de fazer?
Voltou-se ainda, como a procurar lembranças naquele senhor que o fixara e lhe dera uma moeda.
208
Consolidação
TODAS as noites, ia em três anos, ficavam assim. A D. Sofia sentada na poltrona, junto da janela, a fazer o seu croché ou a ler algum romance. A Helena ao outro canto. De
bastidor e agulha na mão, a bordar as suas roupas. Levava um enxovalão, que a madrinha não se poupava a dar-lhe do melhor. E até já lhe prometera uma toalha da Madeira, igual
à que comprara a senhora do Brites. As visitas conheciam-lhe tudo.
- Vai buscar as tuas coisas.
E aí ia ela, com o seu modo triste, abrir a mala e fazer estendal de rendas e aplicações, bordados e pinturas. De mão em mão, as roupas passavam com exclamações e perguntas.
-Que lindo bordado!
- Ah! Este ponto!...
E trocavam-se olhares significativos de elogios. Sorrisos desfeitos no seu rosto magoado e branco, a Helena dava pormenores.
- Dois meses com estes almofadões. Fi-los todos à mão.
- Um encanto! Está como se não lhe tocassem.
209
- Que enxoval!...
A D. Sofia acenava a cabeça, sentindo-se subir no estofo da poltrona. A Helena parecia mirrar-se mais. no seu jeito humilde de largos anos de submissão. Sempre presentes as
palavras da mãe. Sempre constantes as imposições dos outros. E já decorara as palavras da madrinha.
- Vai buscar as tuas coisas. Depois a oportunidade.
- Nada se tem poupado. É como se fosse nossa filha. Nas duas malas, tem para cima de cinco contos.
Deslumbramentos das visitas.
- Para aqui veio com nove anos... Não foi, Helena?
- Tinha-os feito em Abril.
- Uma vida! Parece que a estou a ver, com um vestidinho de chita muito passajado. Depois foi ficando... Ganhámos-lhe amizade e foi isto. Fizemos dela uma senhora. Sabe de
mãos como poucas. O Rasteiro leva uma dona de casa...
As outras interrogavam:
- Então quando é esse casamento?
A Helena baixava os olhos, a dobrar os bordados. A D. Sofia encolhia os ombros.
- Diz que daqui por oito meses. Mas estou a ver que calha no ano bissexto.
Gestos de abatimento.
- Já lhe disse que tudo menos isso. Dar-se-lhe quanto precisa para depois ser infeliz... Custa muito!
E empregueava a boca, amarfanhando o lenço.
- Custa muito!
As outras acudiam:
- Mas é um disparate! A Helenazinha não fará isso. Sabe bem que a madrinha sentiria um grande desgosto.
- O Rasteiro...
- O Rasteiro, compreendem. É um rapaz muito respeitador, muito...
Levantava-se oprimida, a evadir-se daquela obsessão. E ficava lá dentro a adivinhar os lamentos da madrinha.
- Não compreendem coisa alguma. Tudo tenho feito. Mais do que mãe dela.
Baixava a voz, a pormenorizar:
- Até bichos trazia. Fi-la uma senhora, uma menina prendada. Mulher de mais para o Rasteiro. Mas a paga é sempre a mesma. Não ouvem conselhos, não reparam no que se lhes faz.
Criava-se um silêncio. E quando ela voltava, a conversa seguia em morrinha.
Ia passando a linha no bastidor, a recordar aquela cena constante. A madrinha naquela noite fazia croché e tinha suspiros fundos. Nem levantava os olhos, com receio de encontrar
reprimendas nos seus. O Rasteiro não devia tardar. Falariam de cinema. Ele adorava a Clarinha - o seu ar gaiato e travesso. De princípio, tomara aquilo como um remoque à sua
tristeza. Mas o Rasteiro afastara-lhe dúvidas.
- Tu, para mulher. A Clarinha, para amante. Bateram de mansinho à porta. Um sobressalto no seu
peito. Ouviu falas e passos no corredor.
- Dão licença?
Em bicos de pés, pasta aperreada no braço, o Rasteiro entrara, lambendo-a com o olhar. A madrinha largou a agulha e ofereceu-lhe um sorriso.
- D. Sofia...
E beijou-lhe a mão. Ficou de busto curvado, a escutá-la.
- Nada boa, hoje.
- A enxaqueca!
- Antes fosse.
211
- O tempo corre muito incerto. Impossível.
Do seu canto, a Helena mirava-lhe o cabelo lustroso e o perfil correcto. Que bem lhe ia aquele bigode fino e arruivado!
- Dá-me licença?!
Foi recuando em acenos de cabeça, braço aberto, a balouçar vénias. A D. Sofia voltou ao croché e aos suspiros.
Cumprimentaram-se. Ele comprimiu-lhe os dedos, como a dizer-lhe alguma coisa mais do que aquele simples "como passas?". Viu-lhe o bordado. Falaram de um debuxo que a Rosália
lhe emprestara.
- Amanhã na repartição passo isso. - Achas bonito?
Motivo de passarinhos e malmequeres. A madrinha ficara encantada. Quando lhe viu desdém na boca, fez-lhe sinal. Contrariado, ele afirmou que era um primor.
- Não acha, D. Sofia?...
- O quê, Sr. Rasteiro?
- Este chemin.
- Ah!...
Meneou a cabeça, satisfeita.
- Muito lindo. Só lhes falta cantar.
Abriu a pasta e mostrou-lhe os livros do curso por correspondência. Em letra muito desenhada a grossos e finos, o seu nome todo - Ramiro Sebastião da Cunha e Albuquerque Rasteiro.
O seu maior orgulho, aquele nome. Já lhe contara a origem. No anelar, o brasão repetia-lhe tudo.
- Está quase pronto. E em voz mais baixa:
- Já lhe falaste?
Ainda não. Não tivera coragem. O Soares era guarda-livros há uns poucos de anos e temia...
212
Viu-o aborrecido, a trejeitar os ombros.
- Assim nunca mais casamos. O Roque é um fona. Falei-lhe em aumento e disse que ia ver. Andou tudo numa poeira com maus modos.
Afagou o cabelo. Guardou os livros. Ela baixou a cabeça no bastidor, a esconder uma lágrima.
Na poltrona, a D. Sofia cabeceava. Olhos fitos nela, o Rasteiro aproveitou o descuido e beliscou-lhe a coxa. Ela encolheu-se, sorrindo-lhe. O seu rosto ganhou um rubor leve.
Ficaram calados a seguir - anseios que se encontravam. A D. Sofia sacudiu-se, a vencer o sono, e foi à janela.
- O teu padrinho...
-- Conversa no clube, com certeza.
Depois que entrara para sócio, não faltava uma noite. Jogar as damas com o Simões, sempre caturra e linguareiro, a mordiscar na direcção.
- E eu que tanto tenho de lhe falar.
Sentou-se de novo. Bocejou. E como encontrasse o olhar do Rasteiro:
--Credo!... Estou de uma maneira...
- O tempo... está impossível!
Quando o relógio da sala bateu as onze horas, os dois mandaram-lhe repreensões no olhar.
- Bem!
E mexeu-se na cadeira. Baixinho, bichanou-lhe de novo o pedido. Já andava no fecho dos balanços e qualquer dia tinha diploma. Era preciso que ela se lembrasse do futuro. O
Roque não havia meio, por muito que se esmerasse nas cópias à máquina e nos traslados. Uma besta!
213
Sossegou-o.
A D. Sofia abandonara a agulha e esforçava-se por não dormir, arregalando os olhos. Achava que era de mais aquela demora. Quando se punha de conversa, perdia a cabeça e os
outros que esperassem pela noite dentro. Ganhara o hábito de nunca se deitar sem ele vir, porque o entendia entre os seus deveres de esposa.
- Não sou capaz. Que querem?... Educação de outros tempos. A mamã, que Deus tem, passou um martírio com o papá. Até aos cinquenta anos chegava a casa de madrugada. Não que
andasse com amantes, que nisso foi exemplar. Mas ao Grémio nunca faltava. Um perdido pelo bilhar e pela manilha.
E interrogou o relógio. O Rasteiro entendeu o olhar e levantou-se.
- Minha senhora...
Passos no corredor. Encontraram-se os dois à porta. -Cumprimentos. A Helena foi à janela. - Estava aqui perdida. Ele puxou uma cadeira e tomou-lhe as mãos.
- Tanto te tenho dito que não esperes.
- Já sabes que não posso. Nem que só viesses amanhã, seria capaz de pegar no sono.
A afilhada voltou ao bastidor. Cochicharam.
- Ainda não voltou. Não pode ser assim.
Ela abafou de indignação. Ele sorria, contrafeito.
- Deixa-nos sós.
Veio desejar-lhes as boas-noites e saiu no seu passo indeciso, mais alquebrada ainda pelo pedido do Rasteiro. Não sabia como começar. O Soares tinha mulher e filhos...
Os seus passos apagaram-se no corredor.
- Acho que o deves chamar e repreendê-lo.
- Mas...
214
- A D. Quitéria contou-me. Eram três da manhã e viu-o passar com outros, todos com modos de bebedeira.
- Os companheiros do costume.
- Faz-lhe mal. E, depois, não é bonito.
- Rapaziadas! Também tive as minhas...
- Pois sim, mas é um garoto. Estraga-se. Encolheu os ombros.
- Tem uma mulher...
- Querias que tivesse um homem?
E riu-se, esfregando as mãos. Lembrou-se da Sr.a Zulmira.
- Mas uma mulher dessas...
Ele esmagou a ponta do cigarro no cinzeiro.
- Más companhias.
- Lá isso, não. O filho do Meireles, o Pinto...
- Ora!
- Rapazes que amanhã serão doutores. Gente boa. O filho do Dr. Alberto...
Aqueles argumentos dobravam-na. Só protestava com gestos.
- Sabes que a convivência é precisa na vida. Os conhecimentos são tudo. Querias que recolhesse ao sol-posto, como os homens do campo? Têm de se manter os amigos.
Ela encolhia os ombros e afagava as mãos. Temia vê-lo perder-se naquele desvairamento. Noites e noites a recolher a más horas, metido no Fróis com os outros. Nas férias era
uma perdição. Os que vinham de Coimbra eram piores ainda e não o largavam.
- Que andassem de dia.
Isso até ela gostava. "O Eduardo? Ah, é o Sr. Doutor..."
215
- Mas o rapaz não vai ser frade. É estudioso... merece...
- Aperreá-lo um bocadinho.
- Educação à antiga. Isso era bom para o nosso tempo.
- Mas vai ganhando umas ideias...
- Rapaziadas! Quando era meio-caixeiro, também tive as minhas. Fui republicano como poucos. Hoje há outras ideias, mas tudo passa.
Expressão de descrença.
- Verás! Quando fizer o curso, tudo isso desaparecerá. Arranja um bom casamento...
E bateu-lhe nas mãos. Trocaram sorrisos - o dele rasgado e claro; o dela indeciso e brando.
- Sr. Doutor! E tu, minha tola...
Não lhe compreendia aquelas dúvidas. Era caso para se satisfazerem de o verem com tais companhias. Ele só tivera amigos entre a caixeirada. O Eduardo tratava por tu os filhos
da melhor gente da terra.
- É até para nosso orgulho, Sofia. Se visses como o Dr, Alberto me falou no outro dia. De uma maneira!... Apanhou-me no clube, pôs-me a mão no ombro e jogámos uma partida
de damas. "O seu rapaz faz-se gente grande, sabe?" Disse-me aquilo com uma certeza...
Pareceu-lhe que era o Dr. Alberto quem a repreendia, com o seu modo grave. Bigode curto, frisado, já a branquear.
- Eu não quero coisa alguma, Diogo. --Vá ele sempre assim...
Era o filho que lhes dava a mão e os puxava mais acima. Olhos postos no alto a caminhar sempre.
- Se as coisas correrem bem, hei-de mandar fazer uma casa na quinta. Irás para lá passar o Verão com a
216
Helena e o Eduardo. Todas as tardes deitarei até lá. Não achas que merecemos?
Ela acenou a cabeça. Os seus olhos ficaram no vago, a construir formas.
- Uma casa à antiga portuguesa, com uma varanda... um alpendre...
- Tem bonita vista.
- Faz-se dali um mimo.
E as suas mãos encontraram-se, a trocar certezas.
Festa de caridade
Festa de Caridade
Uma comissão de senhoras da nossa primeira sociedade leva a efeito, nesta noite, nas salas do Clube Artístico, um baile de beneficência a favor dos pobres da nossa terra.
A linda festa inicia-se com uma palestra "Rosas do Milagre" proferida pelo Excelentíssimo Senhor José Pinto, estudante da Faculdade de Direito, um dos ornamentos mais originais
e inteligentes da nossa juventude. Algumas senhoras e cavalheiros tomarão parte num extraordinário acto de variedades, depois do que se dará início ao grandioso baile, abrilhantado
por uma das melhores orquestras-jazz do país.
As prendas a leiloar em favor de tão humana iniciativa são, na sua maioria, verdadeiras obras de arte saídas de mãos de fada.
218
O contínuo estreou farda nova e a passadeira vermelha que ia da entrada ao fundo do corredor dava um ar mais requintado ao ambiente. Ao seu contacto, todos sentiam o dever
de emproar a cabeça e compor na máscara uma expressão grave.
As senhoras arrojavam caudas e faziam adivinhar primores. Os homens arrastavam-se nas talas dos smokings e das casacas, esboçando gestos.
Havia alguma coisa de novo que os tomara. Não havia conversas íntimas, nem gargalhadas - meias palavras e sorrisos. Cumprimentavam-se em acenos e as mãos vagueavam à procura
de abrigo. Por isso o Rebelo do bufete já vendera quantos maços e caixas de tabaco estrangeiro tivera a ganhar bafio, durante meses, na montra pequena do balcão.
O corredor cheio. A sala de bilhar passeada em todos os sentidos.
E as senhoras que chegavam distribuíam olhares, perfumes e desejos.
O Mata da Silva não pôde conter o seu deslumbramento :
- É uma festa que vai ficar. É por isto que eu luto há tantos anos. Está aqui um ar de civilização. Em Paris...
E contou uma história longa. O círculo apertou-se à sua volta. Todos ficaram sabendo que "lá fora não se fazia melhor". Naquela noite, o Mata da Silva ganhou lugar de presidente
para as próximas eleições.
Deixara-o só. Defronte das duas garrafas de cerveja chegaram-lhe recordações. Aqueles dois bicos pareciam querer retalhá-lo. Sentiu um desejo de se pôr em mangas de camisa
e pedir ao criado que lhe trouxesse mais cerveja
219
bem gelada. O suor não parava. Devia estar vermelho. Era a primeira vez que vestia aquilo.
O Simões não o largara. O Marques dera-lhe coragem. Mas ele tinha aquela dúvida a roer-lhe as esperanças. Lembrava-se bem do Brás Moita recusado duas vezes. Só à terceira
entrara por proposta do Dr. Alberto. A escolha era apertada.
- Ó homem! Eu responsabilizo-me.
Seduzia-o e esmagava-o aquela ideia. Sempre presentes as palavras da D. Assunção, passadas de boca em boca.
"É preciso não misturar. Amanhã fico sujeita a que o meu merceeiro me convide para um fox".
O Brás Moita rosnara que talvez a senhora tivesse medo que ele lhe falasse na conta. Houve escândalo, mas o Brás Moita mandou fazer um prédio e foi a melhor recomendação para
a terceira proposta.
Uma luta constante. Bichanava-se que aquilo ia mal e era preciso aumentar a receita. As senhoras estavam rebeldes a que se alargassem as entradas. Mas já se aventara cerrar
as portas e não mais haveria bailes. Tiveram de encolher os ombros com aquela faca apontada ao peito. "Tudo menos isso..."
E o Simões na mesma a toda a hora. O Marques a invocar apelidos de família.
Assinou a tremer. Quando queria fazer um nome que falasse na justiça da sua admissão. E os dias que passaram pareceram-lhe sombrios e longos. Os dois davam-lhe confiança.
Mas aquela ideia fez-se obsessão. - Reúnem amanhã.
Nervoso, sem alma para nada. Desejos de apagar o Sol para que a noite viesse. Hesitações. Entrar à sorrelfa e arrancar a proposta do gancho. Rasgá-la aos pedaços.
220
Esmagá-la nos dedos e fazê-la em pó. Para que ninguém visse o seu nome e a assinatura tremida.
O Simões chegara triunfante e dera-lhe um abraço.
- Não lhe dizia?!... Proposta que eu abone...
E foram beber porto.
Não havia cadeira vaga. Ao fundo, muitos ficaram de pé, à espera. Era um friso negro, realçado pelos rostos e pelo engomado das camisas, onde a luz se ia espelhar. Conversas
ciciadas. Risos abafados.
Duas mesas de pau-santo com torcidos e ferragens doiradas. Uma jarra com rosas e avencas.
Palmas.
O Dr. Alberto entrara à frente, com o Couceiro e o Sousa nas abas da casaca. Cumprimentaram num sorriso. E iniciaram os aplausos, quando o Pinto assomou à porta alta da esquerda,
um nadinha lívido e perna direita a tremelicar, assim com modos de comprometer o à-vontade dominador com que sonhara esmagar aquele mar de cabeças.
A Mimi Pacheco bem se emproou na cadeira para que ele a notasse. Mas levantara-se uma cerração de neblina para além das luzes da ribalta, que os seus olhos, turvos como um
pântano, não podiam vencer.
- Minhas senhoras... e meus senhores. Ajeitar de corpos. Erguer de frontes.
- José Pinto é um moço... Acenar de cabeças.
- Um moço prometedor como um sol claro em dia de Primavera. Ele fará fecundar campos, desabrochar flores, irromper perfumes.
Recolheu a mão a traçar um gesto lento. Na ponta dos dedos esmagou um tossicar breve. E falou de Atenas, de Péricles e de Aristóteles.
221
O Pinto empinou o tronco, sentindo crescer em si todo o helenismo rejuvenescido. Via agora um mar de luzes. Um mar sobre o qual caminhava, de pés descalços e corpo nu. Zéfiro
ou Adónis, com alma de Eco - Eco de uma civilização distante e sempre presente.
Logo, quando o baile começasse, ele poderia apertar ao seu peito todas as moças, entregues ao delírio daquelas palavras do Dr. Alberto. E todos os olhos o chamariam. E todas
as bocas lhe prometeriam beijos. E todas as mãos, carícias.
- O título do seu trabalho diz da sua intelectualidade. Rosas do Milagre é um hino de poesia, de elevação e de beleza. E a sua palavra fluente e harmoniosa, voz fiel de uma
inteligência privilegiada...
Era como se a vida tivesse parado naquela suspensão. Como se o mundo corresse ao mando do Dr. Alberto.
-... arrastar-nos-á no deslumbramento da sua luz radiosa, clara como um sol em dia de Primavera.
E deixou cair o queixo no peitilho duro da camisa, como fulminado pelo fogo da sua eloquência.
As ovações prolongaram-se. Os garotos que tinham ficado no passeio a contar histórias, depois de verem passar os senhores graves e as senhoras de ombros nus, ouviram-nas.
E bateram palmas também.
- As palavras imerecidas de S. Ex.a, bem próprias da sua amizade, seriam, pela forma elevada de que se revestiram, motivo bastante para que todos aqui estivéssemos.
O Dr. Alberto teve um gesto de enleio.
- Apoiado! Apoiado!
- Seria de meu dever, depois de tão brilhante alocução, permanecer silencioso.
222
- Não apoiado!... - interrompeu o Dr. Alberto, como a desaparafusar o pescoço do colarinho. O Pinto baixou-lhe a cabeça num agradecimento.
- Mais do que uma conferência foi uma lição. O talento de S. Ex.a, maior ainda do que a sua modéstia...
Aplausos. O Dr. Alberto sentiu um arrepio a vará-lo.
- É que ficaria bem neste lugar. Quando há águias reais que podem esconder o Sol com suas asas, águias que voam tão alto que quase tocam o divino, as aves implumes ficam no
ninho a ganhar forças e a aprender...
A mamã da Mimi tocou-lhe no braço e sorriu vaidosa. Em voz baixa, o engenheiro Silvino afirmou ao Ramos que aquela imagem era um poema e tinha muita filosofia. O Ramos concordou.
Fora um sucesso. No corredor todos lhe tomaram as nãos para o felicitar. Da sala as meninas sorriam-lhe parabéns.
Uma hora a falar no bem e nos pobres. A lenda fora encantadora. Na sua boca parecera uma revelação. Houve olhos que não resistiram.
"Rosas do Milagre. Rosas que vós, senhoras minhas, tendes criado no vosso regaço, viestes aqui desfolhar, para que em cada cantinho houvesse um sorriso, uma ceia e uma esperança.
Benditas as vossas mãos. Mãos de milagre. Mãos de Mulheres de Portugal."
E mais não disse, que a voz tomou-se-lhe de comoção e os olhos se toldaram de refulgências.
- Aquele fim!...
Quando do palco bateram as pancadas para começar o sarau, ainda se falava da conferência e do Pinto.
Loiro e branco, narinas abertas como a sorver o perfume da sala, o João Silva veio anunciar a Candinha nuns
223
versos. Mordiscando os lábios grossos avivados a vermelho, ela entrou, entufada no vestido de organdi branco com rosinhas na cintura.
As outras acharam que vinha pavorosa. O Rodrigues teve-lhe mais apetite e esqueceu a indignação que o Pinto lhe espevitara.
- Por bem.
A sua vozita correu como um sopro.
- Versos do poeta Santos Gaudêncio. Ergueram-se cabeças à procura. O poeta fez que o
não olhavam e coçou as maxilas à procura da barba.
O vento corre do sul E do céu a chuva cai...
Canha estendida. Direita a hesitar. Pensava que os versos se deviam dizer de mãos amarradas. O poeta sentia o fogo que o crestara naquela inspiração.
... Tudo coberto de tule E a criancinha lá vai.
Versos tristes. As outras cochichavam que a Candinha era mesmo um enterro e ia de caixão branco e palmito à cinta.
O fio da sua voz a perder-se nos risinhos das outras. Houve shuis. E ela corou mais do que as rosas abraçadas às suas ancas secas.
A Milu tocou uma música difícil, com harpejos nos graves. O Antoninho Serpa, a cada hora mais anafado, smoking que nem espartilho, veio dizer um soneto de Júlio Dantas. Depois,
a pedido, cantou os Olhos Negros.
O Jorge Botelho fez um sucesso no monólogo da gaiola. A Júlia Simão cantou As Rosas que nem uma
estrela do Parque Mayer. Muitos a desejaram com a mesma fantasia da Lina. Tinha um corpo!... Bisou o número e as palmas trouxeram-na duas vezes a agradecer. O João Silva fechou
com uma serenata de Coimbra, que pôs suspiros nos peitos das donzelas. Loiro e branco...
- Que bem!...
Até eles chegava um tango. Mas aquela cadência morna que embalava os pares no salão e dava motivo aos grupinhos dos cantos não os chamava.
- Uma oportunidade real.
- Pôr ali bem clara a nossa insatisfação. Temos de abrir hostilidades. Desancar os bonzos.
- Fazer da nova arte uma bandeira de revolta. Sacudi-los e tirar as teias de aranha a esta sociedade envelhecida.
- O Pinto traiu. O Pinto é o gramofone de uma cultura sebenta.
- Eu julgo que tivesse adoptado o plano da infiltração. É um processo. Cavalo de Tróia...
- Eu penso que é cavalo sem Tróia. Calaram-se. O Simões pediu um cigarro.
- O momento era difícil. Temos de ver que...
- Há um fim a atingir. Não vamos olhar...
- Seríamos esmagados.
- O espírito não se esmaga. Sairíamos de cabeça levantada. Ouviriam o nosso grito.
O Rocha sentara-se a assobiar baixo. O Fonseca
abordou-o.
- O Pinto cumpriu. Se tu tivesses falado na tua arte, o resultado seria igual. E tu no teu método inglês. E cada um de nós em planos feitos de palavras e só de palavras. A
vida vai deixar-nos no caminho. Quando ele ensaiar os seus discursos vazios e tu defenderes a revolução dos pincéis, e cada um espremer a cabeça a pretender criar
225
o tal novo, que é afinal sempre velho, a vida passará. E vocês nunca mais a apanham.
O João Silva tirou uma almofada e leu o cartão de visita.
- Oferta da Excelentíssima Sr.a D. Isaura da Cunha Pinto. Vamos iniciar o leilão a favor dos nossos pobres.
Os homens invadiram a sala. Algumas senhoras levantaram-se e foram espreitar a imperfeição do matiz.
- Quanto vale? Uma linda almofada!
- Vinte escudos. Repetiu:
- Vinte escudos!
E voltou-a nas mãos. Olhar de rosto em rosto.
- Trinta... Cinquenta... Espera-se o maior lance. O Dr. Alberto esclareceu:
- Como é a primeira prenda a leiloar-se, ficará como um símbolo desta festa. O símbolo do nosso amor pelos pobrezinhos.
- Sessenta... Setenta.
Luta travada. Curiosidade de todos. A cada lance, sorrisos. A D. Sofia Meireles, de lornhão em punho, veio à primeira fila mirar a almofada. Depois rompeu por entre os grupos
e sentou-se de novo, a conversar baixo.
- Vale a seda. O bordado está um horror. Só por embirração.
- Quem dá aos pobres empresta a Deus, D. Sofia. Um frémito de pasmo. Uma martelada nas ansiedades
contidas.
- Cem escudos! Uma maravilha por cem escudos!... Oferta da Excelentíssima Sr.a D. Isaura da Cunha Pinto.
Ficaram os dois naquele despique. O Simões incitava-o.
226
- Cento e vinte escudos!
O outro abanou os ombros e saiu. O Simões tomou-lhe o braço.
- Cento e cinquenta escudos!
Loiro e branco, o João Silva dominava aquelas inquietações.
- Dou-lhe uma... Procurou ainda.
- Ah! Cento e sessenta escudos. Uma linda almofada!
Não compreendeu aquela oferta. Interrogou com a cabeça. E em voz baixa:
- Duzentos?... Sorriso aberto.
- Duzentos escudos! Duzentos escudos!
A D. Sofia achou que era uma calamidade. Os grupos cerraram-se mais.
- Dou-lhe uma... dou-lhe duas... Parabéns! O Simões guiou-o. O seu nome correu.
- Entregue por duzentos escudos ao nosso prezado consócio Francisco da Silva Diogo.
O Dr. Alberto abraçou-o.
- Um belo exemplo!
Abriu a carteira. Estendeu as duas notas. O Silva entregou-lhe a almofada e aplaudiu. As palmas correram por todo o salão. Abriram-se alas para o deixar passar. A mulher veio
tomar-lhe a almofada, afagando-o de olhar macio.
- Acho que é justíssimo. Uma boa aquisição...
- Fica muito bem em tesoureiro.
- Vou falar nisso ao Dr. Alberto.
227
O homem do jazz tinha ataques de loucura. Cantava e ria. As baquetas saltavam nas suas mãos frenéticas. E os pares conduzidos naquela alucinação desenhavam apuros de passes.
Só ele falava. Os outros estavam como esmagados e não ouviam o canto e os risos do homem do jazz.
- Tudo falso! Vocês já calcularam bem quanto cada um gastou para vir aqui esta noite? Os vestidos... as casacas... os Smokings... Os penteados e os sapatos. Mais uma jóia...
E meneava a cabeça.
- Que cada um desse o que despendeu e veriam o resultado. Cinquenta vezes mais!... De qualquer modo não era uma solução. Mas acreditávamos mais na sua sinceridade.
As estridências da trompeta. O ferir do prato na marcação do ritmo desordenado.
- O teu pai, por exemplo. Duzentos escudos por uma almofada. Tu julgas que o fez por espalhar o bem?... As balanças o dirão. Empréstimo por quinze dias com juros para sempre.
228
Nuvens
- É o que eu lhe dizia, amigo Simões. Gente dessa... porta fechada. Acabar com essa súcia toda.
- Fazer uma gafaria e metê-los lá dentro. Isolá-los das pessoas de bem. Já há muita gente a ouvi-los. Façam uma lei e mandem-nos para lá. Sentem-nos no banco do réu e deixem
o resto comigo. Acabo-lhes com a raça!
- Isso é violência, doutor!
-Chamem-lhe o que quiserem. É a defesa das nossas tradições, dos nossos lares.
- Mas a Inglaterra deixa-os.
- Mas a Inglaterra não é Portugal. A Inglaterra não pode ser espelho. Lá, até os socialistas abençoam o rei. É um país de princípios, de gente respeitadora.
229
4
Abismo
O Soares deixara-lhe o registo das letras em cima da secretária e saíra para a Caixa Geral. Corria os olhos pelos nomes e algarismos, desenhados em cursivo de grossos e finos,
e sentia bem que aquela harmonia era falsa - epiderme leve de um corpo gangrenado. Parecia-lhe que aquele registo deveria ser escriturado numa caligrafia desequilibrada, sem
apuros, por mão sem firmeza - mão tangida pelo vento, como uma folha perdida.
E ouvia o Soares a mastigar as suas queixas, corpo pendido na secretária, a desvelar-se mais nas letras com volta, aparo bem firme nos cheios, lasso nas linhas mal definidas.
E via-lhe o sorriso branco, feito riso de vingança, a regalar-se com aqueles lançamentos.
Costa & Silva - Lisboa 30 d/v
Algarismos esculpidos, como se os quisesse gravar à navalha nos seus olhos e nas suas preocupações:
32 585S00 Abafar gargalhadas no peito e esfregar as mãos.
233
Números que não se poderiam apagar da sua vida - nem borracha, nem raspadeira entrariam com eles. Números de escudos convertidos em toneladas:
32 585 toneladas
A pesarem-lhe nos ombros - a ferirem-lhe os olhos. Amontoadas numa pirâmide que não caía, porque descansava na sua nuca.
Entalou a cabeça nas mãos, deixando cair as pálpebras. E os algarismos entravam em torrentes e cravavam-se-lhe na memória. Entravam sempre, cada vez em ritmo mais veloz, e
rodopiavam-lhe no cérebro como um carrossel.
Puxou as mãos ali e fincou-as bem, construindo uma muralha. Mas havia traição, porque os números passavam e cresciam e ondulavam num temporal que rompia tudo.
Esmagar as retinas entre os dedos e fazê-las em pó. Pó que o ar tomaria, levando-o para longe. Pó que corresse mundo.
Sentiu vertigens.
A vertigem do carrossel onde os algarismos cavalgavam garranos fogosos. A vertigem de um abismo aberto ali na letra apurada do Soares. Abismo fundo que o atraía, quanto mais
o desejava afastado.
Era uma sereia que o chamava, prometendo-lhe tudo. Ele bem sabia que naquela ravina não entravam reflexos de estrelas, nem poalhos de esperança. Tudo noite. Mas noite que
o chamava. Mão sorrateira que lhe tomava a sua e o encaminhava nas trevas. Mão moço de cego.
- Por aqui, alminha!...
E ele sabia bem para onde o levava.
32 585 toneladas 234
E por aquelas linhas abaixo, tantas e mais tantas. Era de cair esmagado, sem um ai na boca, nem um minuto para pensar na morte. Morte de mineiro. Soterrado em números e letras.
Costa & Silva............ 30 d/v
Sociedade Revendedora 15 d/d D traço V. D traço V.
O futuro escrito naquela coluna: IMPORTÂNCIA.
Pague o Sr. Francisco da Silva Diogo...
Era uma ordem - pague. A nós ou à nossa ordem. Ordem de pagar. Letra no protesto.
Ele é que queria protestar. Protestar contra todos que lhe tinham entulhado o caminho e não o deixavam seguir. Andara sempre. Viera lá de baixo, da lama, e ganhara asas para
tocar o céu. Subira sem olhar para trás, vencendo desânimos e ódios. Vencera os outros - vencera-se a si próprio. Vencera tudo.
E agora deixavam cair-lhe em cima aquele peso:
32 585 toneladas
E mais. Aquela coluna toda e a outra...
Procurou o fim. O Soares não somara ainda. Havia de lhe perguntar o que fazia afinal em todo o dia, debruçado na secretária. Se lhe pagava para fazer bonitos e resmungar do
ordenado.
Tirara-lhe cem escudos. Quando voltasse, ameaçá-lo-ia com mais cem. Só para o ver tremelicar, pôr-se de branco e falar no filho que precisava de cálcio e de ares de campo.
- Que tenho eu com isso?!...
235
Saber que à noite, em casa, ele choraria. O Soares a chorar...
Teve ganas de rir. Havia de tirar a vingança. Pagava-lhe bem aquele sorriso fechado, de quem está a fazer espectáculo. Letra apurada de quem desdenha do mal alheio.
- Sr. Soares!... Sr. Soares!...
Pegou no lápis e foi somando. Carrossel de números. E os que andavam cavalgando garranos fogosos gritavam para os outros e distraíam-nos. E os algarismos recusavam-se a vir
na ponta do lápis.
Mas a soma estava feita. Soma de letras. Soma de oito letras. Começava num F... Não era preciso conferir. Soma exacta.
E o Soares riria mais do que ele. Traria talvez a família toda e daria explicações. Ouvia-lhe a voz.
- Que quer o Sr. Diogo?! Quando se não tem dinheiro, a gente entretém-se com qualquer coisa. A ver quem passa... A saber de quem morre...
Aquele entretimento era novo. O menino com tosse também vinha.
- Aqui...
E contaria a história toda, de ponta a ponta, sem falhar um pormenor. O Soares sabia tudo. Se ele quisesse contar bem...
- Aquele negócio das farinhas foi o começo. Amostras boas, preço de convencer. Depois o preço caiu e havia que segurar a mercadoria. O tempo passou... Farinha para porcos.
Ardida de todo.
Acendeu um cigarro.
- Três vagões de arroz - outra porrada. O Caetano Pires fechou a casa sem um aviso e deu o fora. Argentina com ele. Lá ficaram quase vinte contos.
236
Roca desanda que desanda. E quando começa a desandar...
Turbilhão sem fim. Abismo sem fundo.
Mão moço de cego que vem de mansinho e promete amparo e só traz desenganos.
"Muitos ficam no caminho..."
Palavras de Seu Isidro. Sina falsa. "Vocês sobem e não olham cá para baixo."
Seu Isidro passara de manta ao ombro e chapéu sebento na canha.
- Pelo amor de Deus!... Trabalhei até poder. A vida enjeitou-me sempre...
Seu Isidro trazia a tragédia na sua mão trémula e nos seus olhos cansados. Deixara o micróbio do mal no seu bafo morno - quase frio. Via aquela expressão amarga - mais tagarela
de pesares do que quantas palavras dissera. E seguira a levar a peste por essas estradas além-sem borralho nem côdea.
Tivera-o ali à mão. Chegavam-lhe imagens distantes. Seu Isidro a querer adivinhar no Borda-d' Água. Seu Isidro a falar do cais e da mulher que era de todos. Pudesse voltar
atrás e saberia apagar-lhe a chama dos olhos. Depois, partir para o futuro sem sina marcada. Fazê-lo de novo, conhecendo todos os Caetanos Pires que abalam para a Argentina.
Ir mais devagar, sem pressas - porque a vida corre a quem calha a sorte.
Fechou o registo e pareceu-lhe que o peso carregava menos,
O Caetano Pires...
Juntam no cofre quanto pudesse e fugir também. Nem mais uma moeda, nem mais um cheque. Tudo o que viesse, guardado ali.
- Espere mais uns dias...
237
Cara abatida, mas sorriso lá dentro. O cofre cheio. Papéis tratados e o barco no porto.
- Vou até ao Alentejo comprar um bocado de farinha. Uma semana talvez...
Afagá-la-ia como nunca -suplicando nos dedos perdões mudos. Daria conselhos ao filho - que escolhesse outras companhias, que se deixasse de tonteiras. A vida não se ganha
a pensar no mal alheio.
O Rasteiro levaria a afilhada e não havia que cuidar dela. E depois não era de obrigação. Muito já fizera. Só o enxoval, que irmão não avezavam outras nascidas em melhor berço.
Picavam os dois. Mandaria telegrama quando desembarcasse.
Viagem de tormentas - sempre inquieto, de olhar torto para os oficiais. Dia inteiro de guarda à cabina da T. S. F.. à espera que a ordem chegasse e lhe tomassem o braço.
- Há aqui um mandado...
Se não dessem por ele, subiria lá acima e não deixaria válvula, nem fio. Barco isolado - barco fora do mundo. Então, as noites viriam sem pesadelos e os dias sem dúvidas.
Mas o telegrafista quando saía fechava a porta e um marinheiro rondava. E a sua expressão não dizia esperanças.
Os jornais falariam. Eram capazes de publicar o retrato e chamar-lhe burlão - não seria mais o conceituado comerciante da nossa praça.
"Francisco da Silva Diogo - burlas a retalho e por atacado."
A mulher consumida de desgostos. O filho seguindo mais firme aquele caminho de que o queria desviar. Não procuraria uma justificação, não ensaiaria um protesto.
238
Se lhe perguntassem, responderia que o pai fora comerciante até ao fim.
Nome manchado para sempre. Uma carta da mulher, como sentença definitiva. Do filho nem uma linha. O Soares, esse tosssicava. Seu Isidro, se passasse ainda, se tivesse bafo
na boca, falaria também. Amarguras mortas - ressurreição da cara de rato-cego. Vingança dupla. E talvez ganhasse forças para o resto da vida, alimentado daquela certeza.
"Quem nasce dez-réis, não chega a pataco."
Era cobardia. Fugir do campo da luta e deixar o seu
nome à mercê dos outros. Cada um lhe pegaria como quisesse,
arrastando-o pelos soalheiros e pela lama das ruas.
Era uma traição a si mesmo. Uma evasão da sua vida,
sonhada em todas as horas.
No Clube haveria conversas para muitas noites. O Simões deixaria de jogar as damas e ficaria, como um mestre, a desfiar hipóteses. O Pinto, o Fernando Costa e o Carreira,
que nem abelhas a zunir-lhe à volta, com desejo de esfregar as mãos.
- Aquela do Diogo...
Ficaria. A situação não era tão má que fosse suicidar o nome. Ele abalava, mas o nome não podia ir. Entregue à fúria dos despeitos alheios, cada qual a puxar de um lado, como
abutres sedentos do seu sangue.
E nem um protesto. A mulher abatida, só suspiros. O filho a encolher os ombros, como se um desconhecido tivesse baqueado. Quisera fazê-lo um homem - um homem de bem, respeitado
de todos. Saíra-lhe companheiro do Rocha e de outros iguais.
Ganhar o ódio do Dr. Alberto e das pessoas de princípios.
239
Caminhar cego e mudo por uma estrada sem sombras.
Tinha de ficar.
Abriu o livro. Correu com o dedo.
Costa & Silva - Lisboa 30 d/v
Coluna fatal - 32 585$00.
Quatro dias ainda. Mais três dias e a letra da Mercantil. Meia dúzia de contos na carteira; outra meia dúzia no cofre. Apuros a diminuir. Parecia que os fregueses adivinhavam
a sua tragédia. Entravam desconfiados, resingões por nada.
- Esse peso...
Se tivessem às costas aquilo tudo!...
32 585 toneladas
E a Mercantil e a Sociedade Revendedora - tantos outros. O mês de Setembro todo marcado em letras. Não sabia que dia do mês era quarta-feira. Mas não se podia esquecer de
que o banco mandava cobrar a letra.
- Se não pagasse - protesto. Nome no registo e em conversas de "aqui para nós". A cochichar, todos saberiam.
- O Diogo... Tinha de enfrentar a vida - não lhe voltar as costas,
nem cruzar os braços. Lutar sempre. Sem hesitações. Achar coragem em cada desfalecimento. Ganhar vigor em cada obstáculo. Esmagar as suas dúvidas, tornando-as alentos. Surdo
às insinuações. Rompendo para o futuro de cabeça erguida.
Falaria àqueles. Eram os maiores credores. Os outros acomodavam-se também. Dir-lhes-ia tudo numa confissão sincera. Pagara sempre - comprara muito. Que esperassem
240
uns meses e tudo seria liquidado. Nem um centavo em débito. Não precisava de perdões. Queria tempo. Se falassem em juros, aceitaria. O bocado que o pai lhe deixara e a casa
seriam vendidos. O Verão passa-se em qualquer parte.
Tinha recordações. Aquele bocado ajardinado era o seu encanto. Seu passatempo nas horas de descanso. Passeando por ali criava certeza no futuro. Longo, o caminho andado. Mais
curto o que tinha para vencer. Voz amiga sempre presente.
Mas não hesitava. As recordações são páginas passadas. Num momento decisivo não há que as rever. Andaria em frente - sem receios.
Via todos os recantos, como se os tivesse ali no lugar do cofre e na estante do arquivo. A Branquinha a guizalhar alegrias, arisca de brincalhona, mas meiga depois. Era ela
quem melhor compreendia a sua flauta de cana. Pêlo como neve, macio de veludo. Não se lembrava daqueloutra crescida como a Romeira, berrando pelos filhos. Cruzada com o carneiro
espanhol do João Mata-Moinhos. A Branquinha, para si, ficaria sempre do mesmo tamanho, virgem a saltos de macho e a desvelos de crias.
Mas agora não havia lugar para a Branquinha, nem para penas idas. Batalha decisiva. Jogar tudo por tudo. Ir, de igual para igual, dizer-lhes o seu plano. Seis meses de espera.
Aquela dúvida não podia continuar sempre. Reduzir despesas. Um corte nos caixeiros e no Soares. Nada de anúncios. O filho... Quisera-o doutor, como um cartaz dos seus sucessos.
Nem que depois viesse para ali a dirigir a casa. Doutor vale um nome inteiro. "Sr. Diogo..."
Sr. Diogo pode ser qualquer. Sr. Doutor está todo dito. Dá respeito. Tivesse ele esse título... Mais do que conde ou marquês, que são coisas passadas.
241
"Está lá fora o Sr. Doutor."
E, quando entrasse, os outros ensaiariam vénias, vindo recebê-lo à porta. Falar-lhes-ia de alto. O plano sem vazios de indecisões. Olhado como um deus.
"Ora essa! Ora essa!..."
Sairia como entrara. Cabeça erguida, andar firme. Não pedia favores - exigia-os.
Doutor é um nome inteiro. Mas o filho falava nisso como se lhe tivesse mandado ensinar um ofício, ou lhe metesse nas mãos o cabo de uma enxada. Não compreendia o seu esforço
- não lhe agradecia a intenção.
"Um bom doutor vale um bom operário. Um mau doutor não vale um mau servente."
Ficara-se a olhá-lo, sem lhe poder dar palavra. Voz vencida de indignação. Encolhendo os ombros, a pensar que as rapaziadas passam, que a experiência lima os excessos dos
verdores.
Dizer-lhe também a sua situação, para que definitivamente esclarecessem posições. Faria um sacrifício para o levar até ao fim. Se mostrasse empenho em acabar. Se o visse orgulhoso
da carreira, disposto a tomar outro rumo. Mas se persistisse, que fosse governar vida.
Aqueles pensamentos abatiam-no. Um torpor invadia-lhe os membros e a cabeça. Era como se todo o passado desabasse sobre si. Mortos os seus melhores desejos.
A quinta e o filho-o passado distante e a promissão do futuro. Mas havia que salvar alguma coisa ainda - o seu nome. Arrasta
ria tudo para defender essa última posição. Era o alicerce da sua vida. Recomeçaria. Pedra por pedra, até novamente chegar acima.
Sacudiu a ponta do Cigarro no cinzeiro. Correu os olhos pela secretária, como em busca de tábua a que deitasse a mão. Uma esperança que lhe desse ânimo - mesmo que não fosse
certeza inteira. Uma esperança é
242
uma luz distante, mas que guia os passos. Ganham-se forças novas. Retemperam-se energias perdidas. Pegou no jornal. Leu títulos.
CRISE.
A folha inteira ficou alagada daquelas letras. E viu-as transbordar e invadir o escritório. Viu-as subir sempre, num caudal que saía também daquele registo, onde o seu futuro
estava somado em oito letras CRISE.
Como um mar que o quisesse afogar. Como um temporal que pretendesse rasgá-lo.
Tinha levado muitos na sua corrente impetuosa. Era um dilúvio que derrubava tudo. Passara-lhe agora à porta - nada escapava, nem o passado distante, nem a promissão do futuro.
Defenderia o alicerce. Porque a bonança viria ainda e os que ficassem então galgariam o abismo. E para lá da sua boca rasgada, em cujo fundo se amassava o lodo de quantas
tragédias, a vida oferecia-se inteira. CRISE.
Falava-se nela debaixo do arco daquele bairro sombrio. No adro risonho daquela aldeia enfeitada de verdores. No bulício infernal dos teares. Na muralha do cais, onde os homens
esperavam o que nunca vinha.
Passara aos campos daquele rendeiro que deixara a vida num baraço de corda. Invadira o balcão de muitos que tinham começado como ele e se afogavam no seu turbilhão.
Porquê?!...
Procurava e os seus pensamentos nada lhe diziam. Era como uma maldição do Céu que pesasse sobre os
homens.
Os Costa & Silva estavam muito acima ainda. A cheia não se faria lá tão alto. Talvez escapassem.
243
PORQUÊ?!...
E sentiu-se culpado. Aquela loja pequena do Tavares fora absorvida por si. Estivera sentado na cadeira de lá e falara-lhe de tudo.
- Sr. Diogo...
Contara-lhe as suas dificuldades. As casas grandes tinham preços com que não podia concorrer. Os fregueses rareavam. Só lá iam os que queriam fiado e se tinham de sujeitar.
Mas o trabalho não era certo e poucos pagavam. Os credores pediam e ele não tinha. Que esperasse...
E ele não quisera esperar. Liquidara-lhe tudo ao desbarato. Pouco fizera, mas entendera que, em comércio, princípios são princípios.
A crise que passara ao balcão do Tavares fora feita por ele. Tempestade saída do seu escritório, com proventos recolhidos no seu cofre. Encerrara nele o futuro do Tavares
e também o do Pereira. Guardara-os ali. A tormenta dos dois fora agitada pelas suas mãos.
Nesse momento não lhes pudera compreender os olhos rasos de água. Parecera-lhe que para além havia uma esperança de o poderem enganar. E satisfizera-se de lhes ver a loja
vazia.
Agora chegava-lhe um arrependimento que o torturava.
Os Costa & Silva e a Mercantil embraveciam o mar que subia. E via todos os seus esforços, todos os seus sonhos, a tomarem o rumo daqueles cofres fortes.
Princípios são princípios.
CRISE.
E não pôde ler o que o jornal dizia, porque aquela palavra submergia tudo. Inundava-lhe a vida de incertezas.
Ainda se houvesse uma luz ao longe...
Falaria com eles.
244
Lugares trocados. O Costa sentado no seu fauteuil, a fumar charuto e a acenar a cabeça. Ele na cadeira de lá a remoer palavras. Palavras molhadas de angústia. E o Costa não
se comovia. Seria como um pântano.
- Sr. Costa... Voz gemida.
- Os credores pediam e ele não tinha. Que esperasse...
O Tavares saíra arrastado como um velho. O peso das suas palavras tinha-o esmagado.
Naquele cofre ele guardara o futuro do Tavares e do Pereira. Mas o Costa exigia-lhos agora e queria também o seu.
Passos fora. A cabeça assomou. Teve desejos de o pôr na rua, de lhe gritar o seu ódio.
Lembrou-se do seu cursivo com grossos e finos, como risadinhas de gozo.
Costa & Silva - Lisboa 30 d/v
A coluna fatal mais apurada ainda.
32 585 toneladas
Mas a sua ira embrandecia. O Tavares e o Pereira espreitavam do cofre, reclamando o futuro que ele tinha desfeito nas mãos.
Passos de chumbo, o Soares entrou.
- Então?!... Encolher de ombros.
- Nem esperanças?!...
- Só hipotecando qualquer coisa.
245
Luz ao longe
QUANDO pôs o chapéu no bengaleiro, vira o rosto de cera e vincadas as rugas da testa. Nos cantos da boca havia duas pregas que nunca tivera.
Sorrira ao empregado que passara, mas ele perguntara-lhe se estava doente.
- Não!...
E sentira-se humilhado, sem encontrar outra resposta. Tudo o traía. Melhor ficar calado, porque não encontraria outras palavras que não fossem de queixa.
Esfregou as mãos, como para tingir o rosto desbotado.
Os ruídos da rua entravam pela janela aberta, de mãos dadas com o sol. Eram gargalhadas de mofa. Gargalhadas de o verem abatido, como se fosse um pedinte. Ele vinha estender
a mão como o Seu Isidro.
- Pelo amor de Deus...
Se não tivesse dito que queria falar a um dos sócios, abalaria escada abaixo. Uma resolução qualquer - menos aquela. Fazer como o Caetano Pires e depois que lhe chamassem
burlão e lhe publicassem o nome no jornal. Ou como aquele rendeiro que deixara a vida num baraço de corda.
246
Talvez o lamentassem. E diriam que não valia a pena por aquilo. Se ele tivesse falado...
Era sempre assim.
O empregado passou de novo. Pareceu-lhe que sorria. Adivinhara já o que o trouxera ali e iria lá para dentro parodiar com os outros.
- O Diogo... Que cara!... Cara de falido em Sexta-Feira Santa. O Costa está farto dele. Leva uma corrida!...
E todos ririam. Eram as gargalhadas que vinham da rua e da luz do sol.
Deitar escada abaixo e não parar nunca. Por esse mundo fora, feito vadio de sempre. O seu nome na secção dos desaparecidos.
"...Vestia fato castanho, camisa branca e gravata às riscas. A quem encontrar o seu paradeiro, rogasse o favor de indicar para a morada acima."
A mulher lavada em lágrimas. O Rasteiro, mais à vontade, com propostas mariolas à afilhada. O filho... Sentia-o afastado de si. Ganhara-lhe como que um respeito indefinido,
uma submissão incompreensível. Gostaria de reagir e poder defrontá-lo, ainda que fosse com insultos. Fazê-lo voltar à meninice, para o varar de medo com um olhar de reprimenda
e a mão erguida. Vê-lo esconder o rosto nos braços trémulos e pender a cabeça humilde e suplicante.
Mas aqueles olhos não se baixavam nunca. Parecia-lhe que os vira a espreitá-lo da janela, festejando o seu enleio.
Levantou-se.
Demora prolongada. Pensou que já sabiam o que lhe ia dizer e estavam a retardar o encontro. As outras vezes, sempre que vinha, recebiam-no logo.
- O Sr. Diogo que entre...
247
Mais cumprimentos, pancadas nos ombros e conversas amigas.
Estava ali agora como um pedinte, sob a pressão daqueles olhos que sentia a seguir-lhe os passos. Tinha a cara branca, bem o adivinhava. Sentia um frio agudo a corrê-lo todo.
Frio de medo ou de morte. Talvez de morte. Porque, vendo bem, ele estava a morrer aos poucos, para a sua vida sonhada. Viver sem aquele amparo não era viver.
"Vestia fato castanho, camisa branca e gravata às riscas."
Ele era um desaparecido da vida. Um homem que tivera na mão a estrela do futuro e a deixara fugir. Fugir para os cofres do Costa & Silva e da Mercantil...
Se tivesse coragem, acabaria de outra maneira. Não deixaria um mistério para criar hipóteses. Pô-los-ia perante os factos. Cortava-lhes a imaginação.
Naquela noite ficariam os quatro à volta da mesa. Ordem à criada para sair. Arranjaria desculpa, se estranhassem. Abriria uma garrafa de porto e uma caixa de sortido fino.
Falaria num grande plano. Daria pormenores.
- Fecha-me essa porta à chave, não venha alguém ouvir.
- Não há vizinhos...
- Fecha!
Tomaria a chave. Acalentá-los naquele sonho pela noite dentro. Prendê-los ao seu delírio. Deslumbrar o filho.
- Farás uma grande viagem pelo mundo. Quero-te um sábio.
Quando os visse tomados daquela realidade sem formas, meter a mão ao bolso. Acariciá-la. Levantasse como um louco e brandi-la. Rir-se dos seus olhos abertos -
248
como a quererem guardar o mundo lá dentro. Aquietá-los. Retomar o sonho. Passá-la nas mãos, como quem dispõe da vida.
Três detonações no silêncio - três fios vermelhos.
Defronte da porta, em letras grandes - ide marcar sacaria:
35 ANOS DE TRABALHO
Beijar os três, limpar-lhes o fio vermelho e ficar como eles de cabeça caída, sem luz nos olhos, nem esperanças no peito.
Os jornais dar-lhe-iam a primeira página. Reportagem de três colunas com fotografias.
35 ANOS DE TRABALHO
Protesto supremo. Ali, na Mercantil e todos os outros, sentiriam bem o peso da responsabilidade. E poderiam pôr, na existência dos inventários, quatro mortes.
Exemplo definitivo.
- Sr. Diogo...
Não o tratariam como um pedinte que estende a mão a suplicar. Liquidaria tudo. Saldo a seu favor, sem salvo erro e omissão. Saldo sem direito a conferência.
- Sr. Diogo...
O empregado sorria-lhe, como quem conhece o segredo e toma liberdades.
- Faz favor de entrar.
Estava morto com uma bala na cabeça e os jornais amanhã contariam a história completa.
Seguiu-o. A porta oscilou na mola e entraram. A Menina Cremilda cumprimentou-os com o seu modo carinhoso. A mão do Costa, sapuda e flácida, a apertar a sua.
- Sente-se, amigo. Então?!... Indicou o empregado com o olhar.
- Deixe-nos sós.
249
Sentiu que o corpo ia ganhando formas. A cabeça reposta no seu lugar.
- Que o traz por cá?!...
Passou os dedos no rosto, como a reanimá-lo.
- Está doente ?!...
- Não!...
Boca a mastigar palavras.
- Um cigarro?
Não lhe dava jeito. Ou não vinha nenhum ou saíam todos. O Costa passou-lho para a mão e puxou do isqueiro.
- Então?!
32 585 toneladas nos ombros. De esmagar o mundo.
- Venho cá por causa da letra. Sabe...
Tudo morto por aquela expressão. Se tivesse a cara mais pequena, talvez não reparasse. Mas assim... Onde estavam as palavras? Escondidas nalgum recanto com medo do Costa.
- As coisas vão más como o diabo. Vendas pequenas... Fiado no miúdo e no atacado.
Só a expressão do outro lhe respondia. Lá dentro o matraquear da máquina de escrever.
- Lembro-me que é uma reforma de cinco letras já vencidas.
- Pelo que lhe estou muito obrigado. Mas...
Juntou as mãos, como temendo que alguma se estendesse a pedir pelo "amor de Deus". Os olhos busoavam tréguas no rosto do Costa.
- Por mais esforços que fizesse...
A cabeça do Roque apareceu à porta. O Costa fez-lhe um aceno para que entrasse. Cumprimentos.
- O Morais Cunha pede uma reunião de moratória. Solicita conta-corrente para conferência e marca o dia vinte.
250
E estendeu uma carta.
- Dizem todos o mesmo. O comércio converteu-se em choradeira. E nós como ficamos?!...
Levantou-se num repelão, agitando o papel. Todo o sangue lhe chegara ao rosto espapaçado de gorduras. Sacudia os braços como um fantoche.
- E nós como ficamos?!... Tem de se cortar a direito. Nem mais um favor a esta corja toda, que negoceia moratórias, concordatas e falências como o comércio mais lícito do
mundo.
Foi até à janela.
Opresso na cadeira, como um condenado em torturas requintadas. O Costa falava para ele. O seu olhar não enganava. O Roque encolhia os ombros e franzia as sobrancelhas, a desculpar
aquelas iras.
- Anote no livro de datas.
- Lembro o Sr. Oliveira?!...
- Não! Vou eu próprio. Vai começar a dança. Nem mais um dia de espera. Cortasse a direito sem "olhar a quem, porque temos de olhar por nós. Acabaram-se as considerações...
Acabou-se tudo.
Devolveu a carta.
- Eu próprio levo a conta-corrente. Arruinar a nossa
casa para salvar...
Deitou os polegares às axilas num repente e logo abriu os braços. E em voz mansa, como a querer desdobrar as palavras:
- Para salvar ladrões...
O Roque empertigou-se mais. Ele mirrou-se na cadeira, como se aquele nome lhe tivesse batido na face.
- Ladrões!... Remexia a ferida.
- Ladrões!...
251
E sentou-se a arfar, passando o lenço pelo pescoço. O Roque saiu em bicos de pés, comprometido com as rangedeiras dos sapatos.
Ele ficou ali, cérebro numa amargura de dúvidas e planos, sem poder dar palavra. Tremelicavam-lhe os lábios. As mãos frias em busca de poiso.
Um silêncio mais atroz que todas as tempestades. Só ouvia o respirar apressado do Costa a repercutir-se no seu coração. Lá dentro, a máquina de escrever corria no carreto
e a campainha tocava. Adivinhava as teclas que a dactilógrafa feria. Sempre as mesmas:
ladrões, Ladrões, LADRÕES, ladrões, ladrões, LA-DRÕES.
E a máquina voava nos dedos franzinos da Menina Cremilda.
Aquele suspiro abalou-o. Os olhos do Costa fixos nos seus, como se quisessem descobrir-lhe as dúvidas e os planos.
- Desculpe. Mas sabe que estamos fartos. Todos os dias... Todas as horas... E os nossos compromissos a baterem-nos à porta e as nossas reservas a fugirem... Isto é a ruína!
Abriu as mãos, como a querer dizer-lhe que sim. O outro estendeu-lhe outro cigarro. O fumo dissolveu-lhe o rosto e sentiu-se mais distante das suas iras e daquele enfartado
de vermelho e gorduras.
- Vamos ao nosso caso. São...
- 32 585... escudos. Toneladas, Bem as sentia mais pesadas agora.
- 32 585 escudos! É uma conta!... - Mas vinha fazer uma proposta. Distraído.
- Dirá!
252
- Não quero moratória, nem concordata. Quero simplesmente pagar tudo.
Ficou à espera do efeito das suas palavras. um sorriso do Costa reanimou-o.
- Preciso do meu amigo para esse efeito. Sorriso evadido. Inquietações.
- É o meu principal credor, tenho de o tratar com a consideração que me merecem todos os que me ajudaram sempre.
O outro agradeceu numa vénia. Palavras moídas, arrancadas aos pedaços. Tudo por terra - só uma esperança.
- Vou trespassar a casa.
O Costa empertigou-se no fauteuil, pousando o cigarro no cinzeiro. O fio de fumo parecia que se lhe enrolava no pescoço e o ia prender ao tecto.
- À vossa casa liquidaria tudo imediatamente. Vendo a quinta, vendo tudo. Não sou ladrão.
A máquina lá dentro voava nos dedos franzinos da Menina Cremilda. - Ó amigo...
- Sou um homem honrado. Talvez infelizmente
honrado.
Pensou que deveria rectificar - Talvez infelizmente
cobarde.
Francisco da Silva Diogo - cobardia a retalho e por atacado. Letreiro definitivo na sua vida.
- Sou um homem honrado. Pago sem uma percentagem, sem mais nada. Peço quinze dias.
- Concedido.
- Obrigado!
Parou a consultar ideias, arrependido da proposta.
- O Sr. Costa, para provar mais uma vez a sua
253
grande amizade, vai fazer-me um outro favor. Reunirá aqui os meus credores...
O outro assentava, meneando a cabeça.
-... fala-lhes da minha situação... do meu desejo de liquidar...
- Da sua honradez...
- E pedir-lhes-á uma espera. Logo que trespasse a casa, dividirei o total por todos. Ofereço até o controle do negócio a quem o quiser fiscalizar.
- Ora!... Isso não é para nós...
- O saldo que ficar, comprometo-me a pagá-lo integralmente.
- Mas...
- O seu caso é à parte. Pago-o todo e em primeiro lugar.
Última esperança.
O que lhe parece?!...
- Digno de si.
E estendeu-lhe a mão.
- Parabéns! É um sacrifício, mas é uma atitude que orgulha a nossa classe.
Aquela mão papuda era como se lhe apagasse todo o corpo. Sentiu ganas de a repelir e deitar escada abaixo sem rumo na vida.
Levantou-se. O outro veio acompanhá-lo à porta.
Última esperança.
- E que lhe parece se voltar a abrir outra casa? Vir ao princípio... É triste, Sr. Costa!... Bem triste!...
Viu-lhe comoção no rosto. A voz prendi a-se-lhe. Sentiu a sua mão no ombro.
- Cá estamos, amigo. Aqui nunca se negou ajuda aos homens honrados.
A máquina lá dentro voava nos dedos franzinos da Menina Cremilde.
254
Mancha
Todos faziam por se não sentir. Falava-se a meia voz, andava-se em passos amolecidos. Como se temessem que a vida os visse e os esmagasse na sua carreira. Pesavam as palavras.
O ar que respiravam oprimia o peito.
Diálogos curtos. Não se olhavam olhos com olhos, como se nos outros encontrassem reflectidas as suas próprias interrogações.
No escritório, o Soares mirrara-se mais e a raspadeira servia tanto como a caneta. Pensava no filho doente dos pulmões e esquecia-se do deve e do haver para achar uma solução.
E a solução não viera ainda, por muito que a buscasse.
Afastava-se dos exemplos, porque esses só lhe emprestavam abatimentos.
"O Gonçalves... O Cunha..."
As balanças na loja não soltavam já aqueles gritinhos metálicos de alegrias. As mãos dos caixeiros andavam pesadas. E nem sabiam procurar as das raparigas que vinham por compras.
As tulhas meio vazias. As prateleiras ao abandono, sem preceitos de desvelos. Montra de
255
estore corrido, com a garrafa grande do azeite isolada no meio, sem triângulos marcados a latas de conservas e cheios de grão e arroz.
As moscas devassavam tudo sem hostilidades do marçano.
O anúncio fora a derrocada.
À noite só se acendia a lâmpada do meio e a loja ficava coalhada de sombras tristes.
TRESPASSA-SE.
Adivinhava sorrisos e insinuações. Despeitos contidos em liberdade. Nunca mais voltava ao clube. Sentia que aquela porta se fechara para si.
Achava-se fraco. Incapaz de subjugar os seus receios. Pensava que levaria consigo um silêncio perpétuo. O próprio Simões contaminado. Às nove horas chegariam os outros. Falariam
dele com certeza. O tabuleiro de damas esquecido. Jogariam com o seu nome - pedra mexida por todos.
- Jogo eu.
Diogo em pedra preta.
- Jogo eu.
Diogo em pedra branca.
Não voltariam a convidá-lo para tesoureiro da direcção. Se algum se lembrasse, os outros diriam que o clube abria falência em duas semanas. E haveria gargalhadas. Gargalhadas
que furavam o ar abafado da casa e vinham até ele.
Subia-lhe um impulso de romper por ali dentro e defrontá-los, cara a cara. Levar o Soares consigo e mostrar-lhes os livros todos.
- Acho que o senhor fez mal. A situação valia uma concordata com cinquenta por cento.
O Soares explicaria tudo. Ele não fizera como o Abranches, que reunira credores e logo a seguir comprara
256
automóvel. Não era um falido -era um homem honrado. Um homem que pagaria tudo, ainda que tivesse de ficar sem camisa.
Era o seu orgulho amargo.
Se o Morais Cunha não escrevesse aquela carta, talvez se tivesse salvado. Mas tinha brio. O Costa fora duro. Falara como se estivesse a julgar um ladrão.
Desnorteado com a sua ira, viera-lhe num impulso a resposta à desafronta. Nem todos eram iguais. Deveria ouvir e falar ao coração duro do Costa. Bem o vira comover-se com
os seus lamentos. Era falar-lhe sempre naquele tom, sem pôr a proposta de pagamento.
Talvez consentisse numa reforma a longo prazo. Mas temera-o. Nem lhe dera tempo para reunir ideias, fugidas numa debandada cobarde. Ficara vazio, como se um furacão lhe tivesse
varrido todo o plano. Se o outro prolongasse o silêncio, ainda talvez pudesse reedificá-lo. Recomporia pensamentos -disporia a ordem das palavras para lhe dar o golpe. - Ladrões!...
Mas aquela acusação ficara a desdobrar-se no bater da máquina, em combinações de maiúsculas e minúsculas. Teclas como martelos a torturar-lhe os nervos. Gritos isolados. Depois
um coro imenso de mil bocas numa ressaca infernal a bradar-lhe o insulto.
Gritos que tinham braços e mãos - braços que cortavam o espaço em gestos de ira; mãos impiedosas que o queriam atirar ao abismo. Abismo sem fundo, onde nem uma estrela se
reflectia.
Quisera lutar. Pedir coragem à sua vontade vencida. Reaver certezas de um passado longo, em tarefas sempre ganhas. Contar ao seu abatimento toda a história de uma ascensão
triunfante contra o mundo.
257
Não iria mais além - tomava compromisso, numa jura sagrada, mão posta na bíblia da sua vida. Deixas-sem-no ficar ali - enterrado com o presente. Múmia viva de quantas esperanças
lhe tinham alagado os olhos e enchido os sonhos.
Jurava!
Mas os gritos empurravam-no sempre - mãos sem coração que soubesse compreender-lhe a angústia. E os seus dedos cansados desprendiam-se do morro, onde aga-tanhavam derradeiras
ilusões.
Fibra a fibra. Segundo a segundo.
Olhos postos em cima, mas a vertigem do abismo a caldeá-lo com o seu fogo, que devorava tudo.
- 32 585 escudos. É uma conta!...
Atirada à fogueira a sua última esperança. Esperança logo sorvida no carão esbodegado do Sr. Costa.
Prometera-lhe ajuda - confiava nela. Sentia a tempestade passar implacável no seu destino destruidor. Nada ficaria. Mas aquele sorriso, aquela, mão no ombro, aquelas palavras,
voltariam a tempestade. E, pedra a pedra, tudo seria reposto de novo, como se nada tivesse derruído.
Ressurreição. Milagre do Sr. Costa, feito deus. Deus anafado com guarda-livres e dactilógrafa, a dedilhar insultos nas teclas de uma máquina.
Lançado já na garganta infinita do abismo e aquela mão papuda a vir buscá-lo e repô-lo cá em cima, no morro. Teria que contar. As horas más que se vencem ficam horas de redenção.
Aos náufragos, renunciando à luta, ele poderia dizer a sua tragédia.
Por cima de todos os silêncios da loja e do escritório, e dos suspiros dolorosos da mulher, vogava aquela pío-
258
messa escondida. Golpe de teatro. No momento próprio a diria.
- Não te rales! Então!... Deus olhará por nós.
Deus era o Costa. "Aqui nunca se negou ajuda aos homens honrados."
Era assim que ele compreendia um deus.
Passava-lhe no peito a vertigem daquela derrocada, embora soubesse que tudo voltaria. Era um vazio que alargava à sua volta, como se ele fosse uma pedra caída num charco de
silêncio. Inundado daquela opressão --escudos convertidos em toneladas. Um mar de números.
A mão do Costa chegaria. Mas antes disso os outros poderiam traçar hipóteses e desfiar calúnias. Os viajantes passariam à porta da outra casa e fariam de distraídos.
Até agora vinham apresentar cumprimentos e pedir para expor o mostruário.
- Sem compromisso. Só para se orientar. Tenho aqui um artigo... Quando quiser! Letra a sessenta dias, ou mais, se for preciso.
Depois só a pronto pagamento, com cheques mirados e remirados, não estivessem a descoberto. Ficava-lhe aquela dúvida a projectar-se na nova esperança. Talvez fosse só isso
que lhe pesasse no peito.
Se o Costa quisesse...
Mas o Morais Cunha escrevera a carta na pior altura. Fora como um bilhete de apresentação às suas pretensões. Tudo dito a frio, imposto, sem mais uma palavra de queixa ou
um ar de desculpa.
"Queira..."
Quanto mais não fosse "Digne-se V. S."...". Por uns pagam os outros. O Morais Cunha tivera sempre aquele modo autoritário de se impor. Por isso também o Sr. Costa espumara
de ira e lhe ia meter a faca ao peito.
259
Às vezes dá vontade. Mas, quando se precisa, é pedir emprestado o ar do Senhor dos Passos e fazer lamúria.
- Pelo amor de Deus!...
Seu Isidro, companheiro de jornada - colegas de novo do mesmo patrão. Mãos irmãs.
Mirou bem as suas. Já nelas se tinham sumido os sinais dos punhos da carroça, das linhagens das sacas e da pega do torrador. Se tivesse que ir por essas estradas, como o Seu
Isidro, todos julgariam que sempre fora vadio. Mariola, eternamente pedinte. Para ele, todas as portas seriam fartas de "tenham paciência".
- Com aquelas mãos...
E tinha-as bem limpas - o Costa que o dissesse. Dera-lhe, e aos outros, os esforços inteiros da sua vida, sem guardar um pó de nada. Entregara-lhes todo o passado por um futuro
incerto. Tinha as mãos limpas.
Os dedos franzinos da Menina Cremilda não dedilhavam insultos para si.
ladrões, Ladrões, LADRÕes, ladrõeS, 1ADRÕES, La-dRÕES.
Pagaria tudo. Nem que vendesse a última camisa. Plano novo imposto pelo Morais Cunha. Plano que lhe dava amarguras, mas lhe oferecia alguma coisa de diferente.
Perguntou a si mesmo o que lhe dava aquele plano. Ergueu-se a esfregar as mãos, corrido de crispações. Espreitou pela janela os vultos que passavam.
- Ganhava a moral.
Gritou a solução, como se falasse aos seus nervos inquietos, feitos uma multidão que esperasse a magia das suas palavras.
- Meus senhores! Ganhou a moral.
Ficara a mastigar aquela palavra, como se fosse um naco de madeira.
260
- A moral... Amoral...
Escrita com u vinha de muro. O muro que não soubera galgar.
- Meus senhores! A moral é um muro.
Ele não era, como muitos, um condenado pela ira de todos os Costas que guardam nos cofres maiores o futuro de todos os Diogos.
Pagaria tudo.
- A moral...
Não roubaria um centavo - um só. Agora entendia bem que as moratórias e as concordatas são roubos. O Morais Cunha queria roubar o Costa. Assalto malcriado. "Queira..."
Alguém o interrogou. Apetecia-lhe encolher os ombros, desdenhoso.
"Que tem você com isso? Ora!..."
O outro não se calava. Insistia.
"É bem diferente. Que tenho eu com esses homens?!... São fregueses!... Fregueses, ouviu bem?!... Chegavam-se-me ao balcão e eu tinha de me defender. Mesmo assim... Pior, como?!...
Dez ou vinte gramas numa pesada nunca prejudicaram. É a lei da balança e da medida. Foi sempre a mesma coisa. O Costa é comerciante. Era o que faltava - roubar o Gosta. Seria
'admitir que me tirassem o suor. Lembrar-me deles quando o rol é um calvário?!... Não reconhecem nada. Vêm com lamúrias e depois ferram o cão. Ainda abalam por cima. Perde-se
o dinheiro e o freguês. Dois males."
Passos no corredor.
- Diogo!
Respondeu num resmungo. Gostaria agora de esmagar o outro que o intrujara. Marcar-lhe bem aquela diferença até o deixar sem uma dúvida, bem convencido. Contar-lhe todas as
queixas. Dizer-lhe todas as afrontas. As con-
261
versas... Os assaltos... Esses dias dos assaltos não passariam nunca. Ouviria sempre os seus desvarios e as suas ameaças. Desde então os dedos pesavam-lhe mais na balança
e as medidas ficaram mais esquecidas.
O vulto da mulher foi crescendo nas trevas. Depois a luz acendeu-se e os olhos ficaram-lhe turvados daquele clarão.
Viu-a inquieta, boca franzida numa expressão dolorosa.
- Que tens?!...
- Vê isto!...
E passou-lhe a carta para a mão, ficando a enxugar os olhos e a abafar os soluços.
Voltou atrás naquela passagem, como se não lhe compreendesse o sentido.
"0 desastre do teu padrinho atinge-me também. Devo honrar o nome da minha família, esquivando-me a tudo que o possa comprometer. Impossível continuarmos. Não calculas como
fico neste momento."
Sentia-lhe os passos medidos, naquela mesma casa onde vivera dois anos. Mão frouxa e esquiva aos cumprimentos. Submisso no olhar. Sentava-se na cadeira do outro lado e ali
ficava até às onze.
O relógio despedia-o.
"0 desastre do teu padrinho atinge-me também."
Gostaria de o ter ali, para o esmagar nas mãos prenhes de energias. Era a primeira afronta que lhe atiravam - o primeiro grito de culpa. Como se o seu nome fosse um atoleiro,
onde se sumissem quantos lhe vivessem juntos.
Era a boca de todos que lhe queriam lançar iras --a expressão dé despeitos recalcados, libertos agora. Tives-se-o nas mãos, como a carta, e saberia calá-lo para sempre, esganando-lhe
as palavras.
262
Misto de cólera e de satisfação. Dentro de alguns dias lhes daria a resposta. Acumulava experiência. Saberia conduzir o futuro para novos caminhos.
O rosto da mulher interrogava-o. Consertou um sorriso que lhe abalou os nervos.
- Importas-te?!...
Queria submeter aquela mancha que lhe corroía as esperanças. Mas sentia-a alargar-se cada vez mais. Tomá-lo do seu fatalismo e correr para fora de si, como um caudal de destruição
que fosse devastando na sua marcha a rota do porvir.
263
Terra-deninguém
QUANDO entrou, já outro esperava. Trocaram um cumprimento de cabeça e ficaram distantes. Acendeu um cigarro e levantou-se para deitar o fósforo no cinzeiro. O outro chegou-lho,
esboçando um sorriso de quem pretende conversa.
Quis ignorar-lhe a presença. Fechar-se ao seu olhar e ao seu sorriso.
Nunca o encontrara ali. Não estava disposto a permitir intrusos nos seus pensamentos. O outro contaria passos da sua vida. Diria de teres acumulados e de certezas feitas.
E ficaria à espera das suas revelações.
Tinha muito que dizer. Tanto, que temia não ser capaz de relembrar tudo. Vida que encheria um livro em letra miúda.
Cresceu-lhe um desejo de voltar costas, construindo entre os dois uma muralha. Afastá-lo de si, como a um inimigo que pede combate para fazer pilhagem. E talvez lhe levasse
o único haver que ficara de trinta e cinco anos de luta - a esperança.
"Aqui nunca se negou ajuda aos homens honrados."
264
Aquelas palavras eram todo o activo do seu trabalho. Nem quinta, nem loja, nem jóias. Mãos vazias. Só aquelas palavras.
E o outro talvez lhas roubasse, deixando-o isolado do futuro.
Viu-o encostar-se à janela e correr os olhos pelo céu.
- Uma tarde acabrunhante...
Não lhe deu resposta. Pareceu-lhe que a sua voz era de mocho a piar tragédias.
O sol não fazia falta. Ele trazia o sol consigo. Guardado no peito e a cantar-lhe nos ouvidos. Luz que o conduzia para além e tinha melodias promissoras. Era um destino novo
que vinha para si, apregoado na claridade radiosa daquelas palavras do Costa. Que lhe importava a tarde cinzenta a escorrer borrifas em moinha?
Os outros poderiam sentir o peso do tempo. O céu descera como a esmagar os homens, como a querer tomá-los do seu desespero.
Mas ele estava alheio aos imperativos do céu, porque tinha no peito e nos ouvidos a luz que inundava tudo e tudo vencia.
A máquina matraqueava lá dentro. A Menina Cre-milda tirava-lhe sons de piano.
Não compunha agora aquela palavra repetida da outra vez. Ele pagara tudo. Nem um centavo ficara. O Costa encerrara a sua conta sem Lucros e Perdas. Conta fechada com o seu
suor.
Os outros credores não diriam o mesmo. Mas o Costa falara-lhes e tinham aceitado a percentagem. Porque o Costa guardava no seu cofre o futuro de todos.
Vinha recomeçar vida. Por isso se esgueirava ao olhar do que se encostara à janela, a reparar na tarde.
Abria-se uma nova etapa no seu caminho. E então todos os seus sorrisos e satisfações se apagariam para
265
aqueles que falavam da sua queda. Ia erguer-se. Renascer da sua morte. Ressuscitar pelo milagre do Costa.
, Poderia contar tudo isso ao outro que pedira conversa. Mas era um segredo - o segredo do seu êxito. E quem sabe... Da outra vez fora a carta do Morais Cunha. Metera-se de
permeio e destruíra-lhe o plano. Agora, aquele viera primeiro... Se o empregado não o tivesse visto, voltaria depois. Mas podia parecer mal e urgia recomeçar, antes que os
outros esquecessem a sua queda. Queria apanhá-los ainda confortados nas suas satisfações e nos seus sorrisos. Para os vencer melhor. Para lhes esmagar as palavras na boca.
O Rasteiro...
Era o símbolo vivo de quantos o tinham afrontado. Aquela carta ficaria como o melhor documento da sua vitória.
Já deitava o olho à casa do Ribeiro, com três portas e bom fundo. Metia-lhe dentro o mobiliário executado ao Rebelo e faria tulhas para fora. Tudo pintado de novo - a verde.
Tabuleta sobre as três portas - Mercearia Esperança, de Francisco da Silva Diogo. Sem mais nada. Se não parecesse disparate, mandaria pintar a vermelho- Vingança a retalho
e por atacado.
E o camião do Costa, parado à porta, a despejar sacas de tudo, caixas e caixotes, num sortido variado - géneros de primeira qualidade.
Voltaria ao clube. Nunca mais jogariam às damas com o seu nome. Todas as noites, no mesmo canto, a pedir o seu café e o tabuleiro. O Simões por adversário.
- Vá, amigo Simões!...
E ele, embaraçado, a mudar as pedras sem convicção.
266
O empregado entrou e pediu ao outro que dissesse quem devia anunciar. Viu-o remexer a carteira e entregar um cartão.
Qualquer coisa Comerciante
Nos seus continuaria a usar o mesmo título. Poderia mandar imprimir num livro grande, em letra miúda, toda a sua vida. Na capa só o nome e o título. Lá dentro a história completa
das suas lutas constantes. Aquela queda e logo depois a redenção.
- Quem devo anunciar?!...
E entregaria o livro. Comerciante que não usara truques para vencer. Mãos limpas de mácula. E a fechar, aquelas palavras do Costa: "Aqui nunca se negou ajuda aos homens honrados."
Não tinha automóvel, como tantos que faziam concordatas e passeavam despreocupados a desvergonha, inconscientes dos seus actos. Ganhara uma força maior. Ficara como no começo,
na loja do Seu Antunes, mas poderia falar a quantos tomassem outro caminho.
- A moral...
Porque no caos do mundo parecia-lhe que só esses se salvariam. Apóstolos e mártires de uma outra mística. Vaiados pelos outros, recebendo a peito nu as setas venenosas de
rancores contidos. Amarguras na alma e falsos sorrisos de perdão na boca.
A sua vingança chegava agora. Os novos apóstolos davam a outra face, mas sabiam esperar.
- A moral...
Só agora se lembrava da sua existência. Era a última tábua de salvação para os que se vêem perdidos e procuravam uma esperança. O Morais Cunha e o Caetano Pires tinham encontrado
outra mais fácil.
Aquela mão caiu-lhe no ombro como da outra vez. Foi afago e depois pesadelo.
- Isto vai mau, amigo. Falências em cada dia e em comércio andamos todos de mãos dadas. Se os que caem fazem número maior, lá vai tudo. Não se aproveita um.
- Paguei integralmente, Sr. Costa. Vendi tudo. Nem um chavo...
- Mais uns tempos. Não me esquecerei nunca do seu acto. Tenho a certeza de que dentro em pouco as coisas tomarão outro rumo e, então, cá estaremos. Você é dos que merecem
ajuda. O seu exemplo ficará para sempre, amigo Diogo.
E aquela mão pesava mais. Subvertia o mundo.
- Apareça de vez em quando. Sinto-me sempre honrado com a visita dos homens de bem.
Não lhe pôde falar. O desespero amordaçava-lhe as palavras. Sentiu nos dedos um ímpeto alheio. Feehavam-se como grilhetas - grilhetas feitas para o pescoço anafado do Sr.
Costa.
Cravarem-se ali e apertarem-se pouco a.pouco. Mecanismo estranho que os nervos faziam actuar. Via-lhe subir ao rosto uma expressão de pavor - olhos esbugalhados e boca contraída.
Agitasse nos seus dedos, numa ânsia de libertação. E as grilhetas feçhavam-se mais.
A boca do Sr. Costa não tinha gritos agora. Gemia. E depois a cabeça pendia-lhe na mão esquerda, em contracções rápidas que iam diminuindo. Um último olhar de tréguas e um
gemido rouco.
Sr. Costa enrolado sobre o tapete grande do escritório, como um bicho repelente dominado nos seus dedos.
268
Tudo acabara para si. Saíra do escritório do Costa sem lhe dar uma palavra, tomado daquela alucinação. Vagueara pela cidade, como um fantoche manejado pelos encontrões dos
que passavam. Parecera-lhe que todo o ruído da cidade falava dele. Voltava-se a cada gargalhada e tinha ganas de pedir satisfações a quantos riam.
-'Porque ri?...
Algemas nos dedos feitas para todos os pescoços. O homem mirara-o com um ar contristado e falara de loucura para o companheiro.
Achara-se sem destino. Sem saber porque estava no mundo. Perdera o passado - perdera a vida. E quem a encontrara não lha daria mais. Há homens que coleccionam vidas. Deixara
a sua no cofre do Costa, lembrava-se bem. Aferrolhada para sempre com fechadura de segredo.
Era agora o invólucro de um homem-'SÓ o invólucro. Não tinha missão a cumprir. Não tinha esperanças a realizar.
Pedir a um miserável que" lhe trocasse o fato e viver da mão estendida. Que mais sabia fazer?!... Encontrar o Seu Isidro para falarem do passado. Sócios na pedincha. A Sr.a
Zulmira voltaria. A Ema também. Talvez que assim consumisse mais depressa o corpo - porque, de homem, só agora possuía o corpo. Nada mais.
As luzes despertaram-no. Soube que tinha lar - lar. Não compreendia o sentido dessa palavra. Lar fala de amor e de sonhos. Ele nada disso guardava.
Não tinha lar - tinha casa. Casa que não era sua. O fim do mês viria. Naquele ainda não; no outro.
"Pague o Ex.m° Sr...."
Pague: intimação definitiva. Desculpas gaguejadas e o senhorio diria que tinha muita pena, mas que não podia. Neste mundo ninguém pode. Só ele pudera.
269
Não mandar no tempo para o fazer recuar um ano. Um ano só. Fora uma vertigem. Sentira-o passar, sem se aperceber de que nunca mais o dominaria. Tivera ilusões. Vivera da sua
miragem. Confiara naquela mão que o arrancaria do abismo - abismo onde nem uma estrela se reflectia.
Um ano só. Dar uma ordem ao tempo - o ano passado fica sem efeito. E tudo se recompor de novo. Não perderia um minuto a olhar o registo das letras, nem a ouvir as indignações
do Costa. Que lhe chamassem depois quantos nomes quisessem. Que os inventassem até, para o marcar entre todos os falidos. Compreendia agora que na vida só a vida conta. Não
há moral, porque a moral é criada e mantida por uns em prejuízo dos outros. Pensara que isso o salvaria. Como se enganara!... E a vida não se pode recomeçar. O tempo não ouve
os imperativos dos homens, nem as ordens de Deus. Alguns anos ainda ficava um fio para os que se perdiam. Num esforço tudo voltava. Diferente, mas voltava.
Hoje...
- A batalha não tem tréguas. Os homens estão divididos. A guerra não acabou em Novembro de 18. Na paz, a luta continua - com o mesmo ardor, por métodos novos. Em cada dia
mais implacável. A cada hora mais cruel.
Recusava-se a entender as palavras do filho, mas sen-tia-as presentes,
- A vida não dormita. Cada domínio gera uma decadência. Um século de quietude está a germinar um minuto de convulsão. Tu és um símbolo. O Costa outro. Símbolos aparentemente
iguais durante muito tempo, mas de facto diferentes. Símbolos que se anulam por etapas. O Costa devorou-te e há-de devorar muitos mais. Quando julgar que tem o mundo no cofre,
o Costa acabará. E não virão outros Costas. E a vida será mais simples.
270
A batalha prosseguia sem intervalos. Trincheiras frente a frente. Fronteiras de arame farpado a dizer que os homens não são mais irmãos.
Não sentia a chuva, nem ouvia o vento. Tarde de inverno. Tarde gémea do seu desespero.
Aquela imagem distante voltou débil e foi-se avantajando. Cresceu-lhe nos olhos e no peito. De rastos, na lama, um soldado caminhava. Olhar pregado e trágico. Corpo mal definido
nas trevas.
"Raid na terra-de-ninguém."
Irmão do soldado - com destino diferente.
O soldado saíra da sua trincheira numa missão difícil. Se voltou e cumpriu, o seu nome foi louvado. E no seu peito, endurecido pela luta, talvez tivesse brilhado alguma condecoração.
Ele estava na terra-de-ninguém. Não levava missão consigo. Daquela trincheira ninguém ansiava a sua volta. Todos o desejavam despedaçado, porque dali o tinham repelido. Não
era um soldado daquela trincheira.
Perdido na terra-de-ninguém. Do outro lado havia contactos que não podia desejar. Havia mãos a que não queria entregar a sua.
Terra-de-ninguém sem fim. Campo deserto sem homens - campo de cadáveres. Ele era um cadáver. Teimava em mover-se. Não era mais homem. A sua vida findara entre letras, esmagada
por avalanches de números em escudos - números convertidos em toneladas.
Ficaria ali sem dar um passo - como um cadáver desventrado, que guardasse a cabeça e nela arfassem pensamentos. Sem poder voltar atrás - sem poder marchar além. Viajando à
volta da sua morte.
Não tinha trincheira a tomar. Vencido por si mesmo.
Soldado eterno da terra-de-ninguém, sem batalha, nem missões.
Soldado sem irmãos que o esperassem.
271
Caminhos opostos
f vento gemia. Talvez gemesse os sonhos mortos que ele não sabia lamentar. Talvez chorasse as lutas ganhas que ele perdera para sempre.
A chuva chicoteava-o - como a um escravo prisioneiro, despojo daquela guerra sem tréguas. Caminhava sem saber revoltar-se. Cabeça pendida no peito. Mãos escorridas sem gestos.
Ia sem destino :-- os cadáveres não têm destino.
A tarde caía. Sem uma convulsão de cor no poente. Sem um sinal de fim. Entregava-se à noite - toda inteira.
A chuva não parava. O vento dizia mágoas e imprecava, às vezes. Só às vezes. Porque o vento parecia também vencido no seu fatalismo.
Um comboio passou.
Os comboios sabem acabar romances. Mas não há romances de cobardes.
Francisco da Silva Diogo - cobardia a retalho e por atacado.
Correu para ele. O comboio voou nos rails. Ficou o seu apelo. Apelo de rebeldia ou de loucura. Sentiu-se cansado.
272
A chuva ensopara-lhe o fato e escorria-lhe no rosto - chorava as suas desditas. Desditas de um cadáver arrependido.
Do alto da encosta desciam brados.
- Ói!... Ói!...
E o vento repetia-os. A tarde inundada do seu ritmo. Ele feito um eco daquele grito de certeza.
- Ói!... Ói!...
Lembrava-lhe o passado, mas desdobrava-se para o futuro. Ia nesse sentido e levava os homens. Brado que guiava os homens.
Marchou apressado.
A buzina da fábrica lá de baixo dera ordem de largar. As correias e os tambores não tinham vertigens. Os êmbolos não levavam energias.
Trégua.
Ouvia as suas gargalhadas e as suas imprecações.
A noite viera. Sentiu-se melhor. Achou -que aquela ideia era bem de um ex-homem. Os cadáveres preferem a noite para lucilar. Mas ele agora queria apagar-se. Sumir-se nas trevas.
Viu-os passar. Tomavam toda a estrada. Iam por caminho oposto ao seu.
- Ói!... Ói!...
Aquele grito ia para o futuro. E era ele que guiava os homens que tomavam toda a estrada.
Alves Redol
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















