



Biblio VT




O modelo deste livro não tem a ver com os de história, biografia, ensaio, jornalismo convencionais. Situa-se noutro plano.
Iniciado há 42 anos, é a recriação de uma crónica pessoal a partir de testemunhos, de diálogos, de declarações, de confidências, de segredos que tive com vários protagonistas (e opositores) do Estado Novo — inclusive Salazar.
Alguns depoimentos não são identificados por compromissos assumidos com os seus autores.
O lado de dentro da ditadura situa-se entre o subjectivo e o distanciado, o despreconceituoso e o responsabilizados Para julgar é preciso, sabe-se, compreender. Daí o contributo da presente memória, memória de gerações de pessoas convictas de um desígnio (essa a sua fragrância) que foi morrendo com elas.
Ninguém quis, enquanto existiram, reter-lhes (fui, ao que parece, excepção) a palavra, o testemunho com que influenciaram para sempre o nosso presente e o nosso futuro.
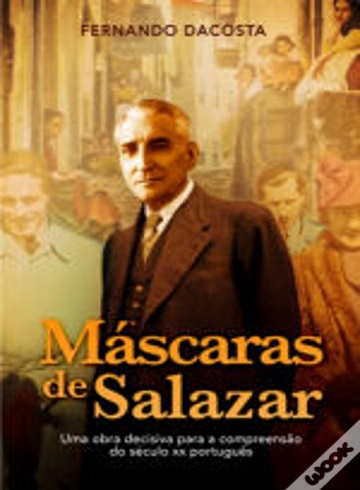
Numa noite de Setembro de 1968, uma limusina negra percorre em grande velocidade a Marginal, rumo a Lisboa. O tráfego, intenso a essa hora, obriga o motorista a manobras contínuas de travagem e aceleração. Rapidamente o veículo entra na cidade.
No Cais do Sodré, o sinaleiro de serviço manda-o parar. O homem que segue ao lado do condutor ordena com impaciência: avance, avance. É Silva Pais, director da PIDE, a temível polícia política do regime.
No banco detrás do automóvel, três vultos de fatos e chapéus escuros permanecem silenciosos. O da direita é Salazar. Os outros são os médicos Eduardo Coelho e Vasconcellos Marques.
Aos pés do presidente do Conselho recorta-se uma mala de cabedal, manchada pelo tempo, com roupas e objectos de toilette. É a mesma que, 42 anos antes, ele trouxera quando chegara à capital.
A distância, outro carro segue-o. Nele vão, acabrunhados, Maria de Jesus, governanta de São Bento, e Paulo Rodrigues, secretário de Estado da Presidência.
A aragem do rio suaviza o calor da cidade. Sem que os doentes e o pessoal de turno o reconheçam, Salazar entra no Serviço de Traumatizados Crânio-Encefálicos do Hospital de São José.
Vai trôpego e curvado. Não responde às perguntas que os clínicos lhe fazem, lhe vêm fazendo, desde que abandonou o Forte de Santo António do Estoril, onde passava as férias de Verão.
Quando fala, as palavras não encontram sentido. O pensamento quebra-se-lhe, o raciocínio desnivela-se-lhe.
Os exames são inconclusivos. Como serão os efectuados (electroencefalogramas) nos Capuchos. A sua carótida do lado esquerdo deixa de pulsar.
O grupo voa para Benfica. Todo o sexto piso da clínica da Cruz Vermelha fora mobilizado, essa tarde, por Vasconcellos Marques, um dos seus clínicos de referência. O chefe do Governo deita-se, silencioso, no quarto número 68.
Figuras do regime chegarão nas horas seguintes: Américo Thomaz, Presidente da República, de Cascais; Bissaya Barreto, amigo de juventude, de Coimbra; Correia de Oliveira, ministro de confiança, da Suíça. É ordenada a prevenção dos quartéis e avisada a Censura.
Ao descer, pouco depois, para o bloco operatório, no quarto andar, Salazar encaminha-se para o fim. O fim do poder exercido ininterruptamente, totalitariamente, durante mais de quatro décadas; o fim, aos 81 anos, da vida.
A emoção apodera-se dos presentes. Nas redacções dos jornais a notícia cai como uma bomba.
A intervenção (esvaziamento de um hematoma craniano) faz-se, devido à debilidade do doente, com anestesia local.
Os resultados revelam-se satisfatórios. Boletins médicos chegam, na manhã seguinte, ao público.
Oito dias depois, porém, um grave acidente cerebral inutiliza-o para sempre.
Uma das páginas mais importantes da nossa História contemporânea é, ali, voltada.
Salazar e o Estado Novo tornaram-se objecto de curiosidade crescente. Tudo o que lhes diz respeito, livros, artigos, testemunhos, estudos, teses, investigações, imagens, depressa se esgota, se colecciona. Se questiona. A procura da sua essência, da projecção da sua essência (cada vez maior número de pessoas quer, livre de traumas e radicalismos, conhecer esse período), ganha irreversibilidade.
Cumprida a denúncia do salazarismo, importa agora conhecer-lhe a atmosfera, a arquitectura.
Há uma atracção indisfarçável, sobretudo por parte dos jovens, por esse passado recente. Sem utopias nem referências de futuro (por enquanto), as pessoas agarram-se ao que lhes está mais próximo, lhes dá mais segurança. E o Estado Novo está-lhes próximo, dá-lhes segurança.
«É muito grande o interesse que se verifica pelo século XX. Nele, Salazar e Afonso Costa são personalidades verdadeiramente magnéticas, são os políticos mais em evidência antes do 25 de Abril», destaca o historiador Fernando Rosas. «Os mecanismos que levaram à imposição do Estado Novo, o que falhou na República, o que falhou em Portugal para surgir a ditadura, estão a tornar-se pólos de grande curiosidade. São como que problemas existenciais que têm a ver com a nossa identidade.»
Há vários escritores, historiadores, professores, sociólogos, ensaístas, jornalistas, políticos, estudantes, que organizam trabalhos sobre a PIDE, a Legião, a Mocidade Portuguesa, o corporativismo, o Movimento Nacional Feminino, os plenários, sem preconceitos nem manipulações. Um português radicado em Londres prepara-se para editar em língua inglesa uma pormenorizada biografia do ex-presidente do Conselho.
Virar a situação
Multifacetada, a luta contra o Estado Novo começa antes de ele ter sido, em 1933, oficializado. Inicia-se a seguir à imposição da ditadura, consequência do 28 de Maio, através de atentados, revoluções, golpes — alguns falhados por muito pouco.
Franjas diversificadas da sociedade portuguesa contestaram, na verdade, e desde sempre, o regime saído do golpe militar que pôs fim ao sistema democrático da nossa, então, jovem e atribulada República.
Em todos os sectores germinaram, emergiram, repúdios a Salazar, que conseguiu, no entanto, vencê-los sistematicamente.
Os seus autores passaram, por pretenderem «virar» a situação, a ser alcunhados de «reviralhos», termo inspirado nos «viradeiros» surgidos a seguir à queda do Marquês de Pombal.
Uma eficiente máquina controladora é, entretanto, montada. Prisões, torturas, assassínios, exílios, desterros, generalizam-se contra os discordantes. Os comunistas organizam-se e clandestinizam-se.
O regime transfere a repressão («um safanão dado a tempo», segundo as palavras de Salazar) das ruas para os calabouços, das multidões para os indivíduos. O PCP, que o percebe, maleabiliza-se para resistir. Resiste.
Os seus quadros não têm pressa. Tentam mesmo esvaziar radicalismos, controlar sublevações, inflectir golpes, demover refractários.
O presidente do Conselho faz com que a sanha antico-munista se constitua uma obsessão. Precisa dela para se sentir providencial, se afirmar insubstituível.
A luta sem tréguas contra o comunismo, o Mal Supremo, dilata-lhe a existência, inspira-lhe a acção. É um jogo incansável, ambíguo, com lances de infindáveis e mútuas astúcias.
O País torna-se um campo dividido, repartido: num lado os bons, o seu; no outro os infiéis, os opositores.
A revolução chinesa, a Guerra Colonial, o Maio de 68, fendem, entretanto, a vida portuguesa. Grupos rebelam-se nas universidades, na comunicação social, nos quartéis, nas fábricas, nas letras, nos espectáculos, na política, na Igreja.
O regime sofre embates aceradíssimos. O corporativismo fizera-se-lhe uma teia austera, pudica, ritualista, cinzenta, de chapéus e discursos, granitos e maçãs, vinho tinto e água benta, sempre pesada, sempre previsível, sempre inamovível.
Será o canto de cisne do colonialismo, do imperialismo, portugueses. Quis restituir-lhes a grandeza do passado («uma Pátria una e indivisível, do Minho a Timor»), mas cavou-lhes a queda; quis dilatar-lhes exércitos, recursos, misticismos, universalismos, mas viu renderem-se militares, debandarem mancebos, emigrarem famílias, rebelarem-se intelectuais, oporem-se-lhes nações.
Contra tudo, contra todos, Salazar e os seus fecharam-se sobre si («orgulhosamente sós»), radicalizaram-se («a Nação não se discute»), iludiram-se («os ventos da História hão-de dar-nos razão»), suicidaram-se («para Angola e em força»).
«Muito gostava de ver a confusão em que isto vai ficar depois de eu desaparecer», confidenciará o chefe do Governo, pouco antes da queda, a um amigo. «Por mim não me importava de uma certa perturbação, tenho, no entanto, pena dos novos, vão sofrer muito. Dentro de 40 a 50 anos haverá cataclismos económicos e políticos na Europa. Receio que países como Portugal desapareçam.»
Conheci Salazar na segunda metade da década de 60. Jornalista a trabalhar, em início de carreira, numa agência internacional de notícias (a espanhola Europa-Press, da Opus Dei, então à conquista do mercado português), foram-me atribuídos os contactos com São Bento — Assembleia Nacional e Conselho de Ministros.
Ao ser-lhe apresentado, exclamou, afável: «Ah, é o novo recruta da informação, seja bem-vindo!»
Fiquei a olhá-lo em silêncio. Ele era para mim, desde criança, o ser mais poderoso do mundo, depois de Deus, de Nossa Senhora e do Demónio; era uma entidade que, por maldade, condenara os portugueses à miséria, à subjugação, ao sofrimento — ensinaram-me.
As maiores lágrimas, os maiores pavores, provinham, nos círculos que me envolviam, do seu nome. Familiares meus haviam sido perseguidos, presos, torturados, desterrados. Um deles fora para São João Baptista, Peniche e Tarrafal, por se ter levantado contra o regime e escrito o livro Os Crimes da Ditadura - destruído pela polícia. Diziam-no anarquista. Chamavam-lhe o Pássaro, pelo seu sentido de liberdade, de transfiguração.
A imagem do presidente do Conselho, sob a do Crucificado, fez-se-me companhia em todas as escolas por onde andei. Cresci ouvindo uns a endeusá-lo, outros a diabolizá-lo.
Na minha frente, ele revelava-se, de súbito, um ancião de fortíssima personalidade e energia. Parecia imortal. Foi, durante muitos anos, imortal.
Os atentados, os ataques, as revoltas, os golpes contra si falhavam sistematicamente, um a um, como se o destino o tivesse feito inatingível.
Todos os que ouvira desejar-lhe a morte ou a queda morreram ou caíram sem o verem atingido — quantas garrafas de champanhe e jantares festivos conheci adiados, durante décadas, pelo seu não fim.
«A ida do gajo prò inferno significará a vinda para nós do paraíso», berrava o meu avô por tascas beiras, ante bufos desinteressados do seu monocórdico reviralho.
Só quando, na Cruz Vermelha, ouço Dona Maria soluçar, «o senhor doutor está perdido, coitadinho, apenas um milagre o poderá salvar», quando vejo Américo Thomaz anunciar ao País a sua substituição, quando o contacto, perdido o poder, em São Bento, alheado, fantasmático, quando acompanho, mais tarde, o seu corpo, numa tarde abafada de Verão, ao cemitério do Vimieiro, só então me convenço de que ele era finito.
Malvista por Salazar e Cerejeira, a Opus Dei tentava afirmar-se cativando tecnocratas marcelistas e católicos progressistas (a emergirem nas áreas do poder), universitários e intelectuais (nas do contrapoder). Preparava, no fundo, espaço, influências, hipotecas, patrimónios.
Conheci por dentro a sua estratégia. Fui mesmo convidado a frequentar sessões, debates, encontros, concertos nas suas residências de luxo, disciplina e amabilidade. O meu irremediável anarquismo (a não permitir ostentar, clube, igreja, escola, partido, lobby) rapidamente me tornou, porém, não digno de confiança.
AEuropa-Press despediu-me sob a justificação de não ter, em política e costumes, comportamentos correctos. Não tinha.
Quase ao mesmo tempo, a Capital (dirigida por Norberto Lopes e Mário Neves) impedia-me, com idêntica argumentação, de entrar nos seus quadros. Direita e esquerda, Opus Dei e Maçonaria reagiam da mesma maneira ante as minhas pobres afirmações de diferença.
Embravecido, José Cardoso Pires levou-me para o Diário de Lisboa, tentando salvar a crença (mais dele do que minha) na justiça humana. Uma indemnização de 60 contos (vultuosa para a época) lavou a consciência à Europa-Press — e a discriminação a mim. O cheque iria, porém, servir não para comprar carro (o meu sonho), mas para depósito bancário exigido a quem pretendesse, antes do 25 de Abril, lançar publicação periódica.
Um grupo de jornalistas da oposição pretendia, sufocado com a imprensa convencional, editar em Lisboa um semanário diferente. Para contornar a Censura, ele dedicar-se-ia (rabo escondido com gato de fora) às letras, às artes, aos espectáculos e, só depois, às actualidades. O director seria eu, jovem sem cadastro (apenas umas detençõezitas pela PIDE) nem provas de suspeição.
O dinheiro do despedimento, caído como sopa no mel, foi a caução que fez formalizar o processo. Reuniões com bancos, tipografias, direcções-gerais do Estado, multiplicaram-se. O título do projecto era um modelo de imaginação: Vento Novo!
De repente, o responsável pela Censura convoca-me: «Você pensava que nos iludia? Tenho aqui a informação da polícia... os seus companheiros de projecto são todos militantes do Partido Comunista Português.» Eram. «Saia, por favor.» Saí.
Desci as escadas, apanhei um táxi, levantei o dinheiro (antes que me metessem em novas causas) e entrei num stand abaixo do Marquês de Pombal. Pouco depois saía conduzindo um aveludado Fiat branco-areia que me compensou do fracasso do Vento Novo — e da desventura em não dirigi-lo.
Os fins-de-semana desse Verão, e dos seguintes, passei-os não em deambulações às praias, mas em deslocações ao Forte de Peniche (gasolina à minha custa) com familiares de encarcerados políticos.
Nenhum deles, familiares e encarcerados, teria, caída a ditadura e aberto o presídio, um gesto de agradecimento, de gentileza para comigo.
Muito poucos souberam, directores e chefes no jornalismo, editores e divulgadores na literatura, encenadores e programadores no teatro, líderes e dirigentes na política, perceber a visão pouco convencional que eu transportava. O que, desde muito cedo, permitiu-me criar, sob mantos diáfanos de duplicidades, deliciosos espaços pessoais de liberdade, de subversão, de distanciamento, de empenhamento.
Uma manhã, Dona Maria pediu-me que ficasse um pouco mais. O senhor doutor — tratavam-no assim — soubera que eu tinha passado a infância em Segões, aldeia próxima de Viseu, e a adolescência na Folgosa, junto à Régua, zonas de que gostava muito, pelo que queria falar-me.
Com uma curiosidade, um conhecimento, notáveis, Salazar pretendia saber como ia, nelas, o ano vinícola, estava-se no tempo da sulfatagem, e como se apresentavam as perspectivas de escoamento da produção.
O nosso diálogo (rural) era retomado todas as vezes que me deslocava à residência de São Bento.
Miguel Torga terá, na mesma altura, reacção idêntica para comigo. De passagem por Coimbra, subo ao seu consultório, ele entreabre a porta, cabeça de fora, olhar carrancudo:
— Que é que você quer?
Mal me ouve falar em entrevista, mete-se para dentro resmungando que não, que não pensasse nisso. Quando ia ao fundo da escada, ouço-o berrar:
— Espere aí, de onde é você?
— A minha família vive na Folgosa, venho das vindimas...
— Na Folgosa? Suba, suba cá!
Eram seis da tarde. Saí perto das dez da noite. Foi um monólogo inesquecível sobre vinhas, doenças, carestia de jornas, corrupção de benefício, escassez de caça, temas repetidos sem variações durante mais de um quarto de século.
Dona Maria demorava-se, depois de Salazar se retirar, em conversas soltas, exaltando a vida do campo e denegrindo a da cidade; escutava-lhe com frequência queixas contra as criadas, contra as vendedeiras da praça onde se abastecia, contra as pessoas que só sabiam pedir favores, contra os políticos, contra os ministros, as mulheres, os filhos, os motoristas, as amantes dos ministros.
Era uma criatura expedita, esperta, que vigiava São Bento através de ardis de boa eficácia. Detinha, pela influência exercida no chefe do Governo, poderes imensos no País.
O estadista, que a sabia de fidelidade absoluta, gostava (precisava) de se lhe abrir: o seu autoritarismo maternal tornara-se-lhe um contraponto ao peso da vertigem do sumo poder.
Uma vez, enquanto nos servia cálices de Porto, disse-me: «Nós sabemos que a sua família é das oposições... mas é tão novinho, não se meta em política, não dê cabo da sua vida!»
O presidente do Conselho meneou ligeiramente a cabeça em sinal de assentimento.
Maria de Jesus Caetano aprendeu depressa os rituais da etiqueta e do protocolo. Os seus gestos ganharam movimentos de sedução, as suas palavras modulações de elegância, para o que contribuiu o didactismo gentil de Ricardo Espírito Santo, assíduo de São Bento.
O sarcasmo tornava-se, por vezes, irreprimível nela:
— O senhor doutor acordou hoje bastante mal-disposto, — desabafou-me uma manhã.
— Está doente?
— Não, não é isso. Ontem esteve a trabalhar até tarde. No final, depois de os que se encontravam com ele terem saído, disse-me: «Sabe uma coisa?, esses deviam estar na cadeia.» Eram os ministros. «Então porque os não manda prender?», perguntei-lhe. «Não, porque já roubaram o que tinham a roubar.»
Salazar corrompia os que o serviam para melhor o servirem. Não era um corrupto, era um corruptor. Sabia, no entanto, fazê-lo e com quem fazê-lo.
O seu olhar penetrava nos outros como um laser de gelo. Hesitações, trejeitos, lampejos, mesuras, tudo destrinçava, silenciava — hierarquizava.
Lembrava um coleccionador de insectos metidos em caixas feitas à sua fantasia, na forma, no conteúdo, no cheiro, na cor, na música. Muitos deles habituavam-se, aconchegavam-se ao algodão cloroformizado que os envolvia; outros tentavam fugir pelas frinchas a caminho do ar fresco.
Apreciava essa imagem de coleccionador. Reter objectos, e pessoas, é reter o tempo que contêm. Conservava-os (objectos, pessoas) quanto podia: a navalha de barba, a loção (Floid), o relógio de bolso (Roskopf), as gravatas cinzentas, os fatos escuros, as botas, a máquina fotográfica {Zeiss Ikon), os canivetes (mais de 20), as bengalas, as courelas, as macerações, os fantasmas, as crenças, a ideologia, a política, a governanta, o motorista, as criadas, os amigos, os inimigos — a vida.
Branco de segunda me soube, por ter nascido em Angola, sem entender o que significava sê-lo. Um desígnio da providência, como vir ao mundo deficiente ou pobre, pensei — e aceitei; uma infelicidade a expiar por condição mal herdada, como ser de família reviralha e anarquista, pensei — e aceitei também.
O ter ido muito criança de Luanda para o Alto Douro poupou-me o conhecimento (o sofrimento) real disso, mas não o de outras discriminações.
Ver reprimir a diferença e a sensibilidade, ver triunfar a violência e a arrogância, seriam, depois, banalidades a que me acostumei, na ditadura e na democracia, nos governos e nas oposições, nas direitas e nas esquerdas, nos brancos e nos negros, nos instruídos e nos boçais.
Razoável intuidor da natureza humana, aprendi, com diminuta dificuldade, a atribuir às pessoas, às coisas, aos comportamentos, a importância que eles tinham. Mais do dar do que do receber, fui-me salvando sem os dramas da desilusão, da frustração — que vi abater muitos dos que me haviam acompanhado.
Não fui eu quem escolheu a época do salazarismo para existir. O seu período foi para mim (não tive outro) o da infância e juventude, o do conhecimento e afirmação. Foi, sobretudo, o do contacto com pessoas, por sinal notáveis e por sinal suas combatentes, quase todas. Ironicamente, parte do melhor que o Estado Novo nos deu foi parte do que de melhor se lhe opôs.
— O senhor doutor gostou muito do filme Música no Coração. Até se comoveu...
— Foi vê-lo? — pergunto, surpreso, a Dona Maria.
— Não. Eu é que o vi e lho contei, com todos os pormenores, como ele gosta de ouvir.
Apaixonado pelo cinema (chegou a ser, nos primeiros tempos de Lisboa, um espectador assíduo), Salazar afastou-se, no entanto, das salas escuras com o avolumar do trabalho e da curiosidade do público.
António Ferro ainda tentou adaptar o antigo cabaré existente no Palácio Foz a sala de projecção, para ele ver ali as obras que lhe agradassem. Mas a ideia não resultou.
Dona Maria e as amigas passaram, então, a deslocar-se, a seu pedido, às primeiras matinées, e a contar-lhe minuciosamente, aos serões, as histórias das películas por si escolhidas. Manta de lã nas pernas, bule de chá na mesa, Salazar deleitava-se com as aventuras, desventuras, a correrem, noite fora, em diferido pela sua imaginação.
A ópera e ao teatro ia nos ensaios gerais. «Sentava-se num camarote e assistia a tudo com grande atenção. No final fazia observações bastante pertinentes», sublinha-me Amélia Rey Colaço.
— Porque é tão orgulhoso, senhor doutor? — perguntam-lhe um dia.
Salazar desvia o olhar para lá da janela e murmura:
— Um homem tem que se agarrar a alguma coisa para sobreviver, para se aguentar. Eu agarro-me a mim mesmo, não tenho outro arrimo.
Curiosamente ouvirei, anos mais tarde, a outro homem de orgulho, Jorge de Sena, resposta idêntica a pergunta idêntica.
A casa e as terras da família só lhe dão, a partir de certa altura, problemas. Tal como as colónias. A sua manutenção cria-lhe preocupações crescentes.
De Santa Comba apenas lhe chegam más novas: muros que desabam, telhas que quebram, granjeios que estiolam, pessoal que escasseia.
Do Ultramar apenas recebe inquietações: Nehru anexa Goa, Damão e Diu, os negros reivindicam a independência de Angola, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe.
Das Nações Unidas apenas conhece dissabores: a maioria dos seus membros exige-lhe que descolonize, que democratize. Não tem para onde se voltar. Até o Brasil hesita.
A pouco e pouco as pessoas foram-se-lhe transformando em estatísticas, em multidões. Pessimista, como todos os totalitários, não confia na bondade natural do ser humano, nem na sua evolução. Acha mesmo que os sistemas permissivos (as democracias) fazem emergir, com o tempo, o lado inferior, egoísta, do indivíduo. Se não for socialmente inibido, este retornará à barbárie — com todo o arsenal tecnológico, científico, informativo, manipulador, exterminador, de que dispõe.
«Dava a sensação de que falava para si mesmo, para se convencer, justificar a si mesmo», reflecte um amigo íntimo. «Daí o desagrado com que nos ouvia quando lhe falávamos de coisas que lhe desagradavam, os presos políticos, a Censura Prévia, a Guerra Colonial.»
Nos momentos difíceis, refugia-se na terra. Mergulha nas pessoas, nas paisagens do passado, maneira de reencontrar o futuro nelas intuído em adolescente.
Sem nada a perder, os mais jovens (são eles que jogam em África, a vida e, no exílio, o futuro) exigem actos, não abaixo-assinados, luta, não contemporização, afrontamento, não prudência, liberdade, não hipocrisia. A moral e a estética (do regime e da oposição) são por eles postas em causa.
Brigadas de extrema-esquerda disparam acções violentas. Intelectuais, escritores, jornalistas, artistas, sindicalistas, militares, advogados, estudantes, padres, dinamizam, fora dos espaços convencionais, a contestação à sociedade da época.
Da Madeira, O Comércio do Funchal estimula (devido a uma Censura mais branda e a uma comunicabilidade mais envolvente) a intelligentzia do País. Faz-se, na esteira do República, do Diário de Lisboa, do Jornal do Fundão, do Notícias da Amadora, cor de vitalidades.
Os filhos do regime começam a opor-se à guerra, os militares a rebelar-se, os mobilizados a desertar. Os milicianos desmancham hierarquias, as potências internacionais preparam o banquete de África.
Piedoso, o destino tudo isso poupará, porém, a Salazar.
Ele tentou construir uma nova epopeia com os velhos heróis, e contra-heróis, do seu imaginário. A Exposição do Mundo Português de 1940 é um exemplo: das façanhas dos Descobrimentos às façanhas do Estado Novo existe a mesma intencionalidade épica, sacralizadora do País — do poder do País.
Os povos sábios ou são tristes, ou são cínicos, advertia. «A nós, portugueses, coube ser tristes.»
Povo mais de sombras do que de luz, de lua do que de sol, de vales do que de praias, de água do que de terra, o português fez da melancolia um porto de névoas.
O branco, síntese de todas as cores, tornou-se a sua cor — a das velas dos moinhos que moem a farinha, a das velas das naus que dobram os oceanos, a do linho das núpcias, dos partos, das mortalhas, dos altares, a do papel, a do nevoeiro, a da espuma, a do sal, a da mágoa, a da candura.
O branco e o cinzento são os tons que preferimos para as roupas, os carros, as casas, os quadros, os repousos.
Pela tristeza atingimos a paz interior, nossa forma de felicidade, de alegria; daí cultivarmos o saudosismo, o romantismo, o messianismo, o fatalismo. Lavamo-nos no choro, deleitamo-nos na desgraça, adiamo-nos na espera.
O vale de lágrimas que cultivamos para nos enlevar aparece, entretanto, ponteado de rebentos súbitos de humor, de desbragamento. Como uma veia a salvaguardar-nos o outro lado da resignação.
O pícaro, a pilhéria, a maledicência, a insensatez, o delírio, fizeram-se-nos, com efeito, contrapontos irrecusáveis. Gil Vicente, Bocage, o Judeu, Fialho, padre Agostinho de Macedo, as revistas do Parque Mayer, os jornais de sátira, os caricaturistas, são magníficas expressões disso.
Duas faces tem o fado (a da angústia e a da brejeirice), a poesia (a do lirismo e a do escárnio), o teatro (a da tragédia e a da farsa), o folclore (a dos coros e a dos fandangos); duas faces tem a nossa postura (a do Atlântico e a do Mediterrâneo), a nossa energia (a dos parados e a dos andarilhos), o nosso temperamento (a da vertigem e a da depressão).
A nossa tristeza revela-se complexa, contraditória. Ou damos tudo ao corpo (em comida, em bebida, em cama, em conforto) para que ele não nos aguilhoe, como defende Camões, ou lhe minguamos tudo (através de jejuns, de cilícios, de macerações, de penitências) para, como preconiza António Vieira, o conseguirmos superar.
A nossa tristeza é mais sombria do que dolorosa, mais de mágoa do que de sofrimento, de sonho do que de realidade; não é lancinante, é aconchegante.
Sofremos porque temos pena de nós próprios. Gostamos de imaginar-nos os seres mais incompreendidos, mais infelizes do mundo. «A minha vida dava», garante toda a gente, «um romance!»
Rebolamo-nos de gozo com a imensíssima desgraça que nos eleva aos altares das mais incríveis megalomanias. Adoramos sentir-nos mártires, Cristos supliciados em Gólgotas de santidade, protagonistas de paixões desmesuradas — maneira de compensarmos a apagada e vil tristeza que nos sepulta. A tristeza é «o não contentarmo-nos de contentes», verseja Camões.
«O pessimismo floresce no nosso País como uma venenosa árvore de morte. Ele não implica necessariamente degenerescência ou esgotamento agónico, pode ser o sintoma de que estamos a atravessar uma hora decisiva no nosso destino», sublinha, pouco antes de se suicidar, Manuel Laranjeira.
«A tristeza lusitana tem boa cepa», provocava Salazar. «Como o vinho, o queijo, a maçã, o granito.» Sorria e entristecia.
Uma das realizações mais intrigantes que ele nos deixou foi a do seu mito. Personagem de ficção («nunca vi numa mesma pessoa tantos contrastes como nele», exclama Cerejeira), odiosa para uns, fascinante para outros, foi-a construindo, deixou-a construir com vagar e habilidade ao longo de muitos anos (dominou como poucos a técnica da sedução e da propaganda), através de encenações progressivas de sombras e luzes, excessos e despojamentos
O seu não era um teatro de palco mas de bastidores, não de acção mas de reflexão, não de tribunas mas de cadeiras; cadeiras, três, que lhe marcaram a vida e a morte: a poltrona onde se sentava no gabinete de trabalho (controlando o regime), a de lona onde se estendia no forte do Estoril (e da qual, ao contrário do que se generalizou, não caiu) e a articulada (oferta do banqueiro Queiroz Pereira, que a trouxe dos Estados Unidos), onde agonizou, fantasmático, durante dois anos.
As cadeiras foram, aliás, para si, e desde muito novo, um símbolo de postura — corpo e afectos inertes, pensamento e determinação desacostados, feitos quilha de domínios, de ousadias.
Contou sempre com poucos amigos. Sabia que o poder é, quando desmesurado, incompatível com os sentimentos; que, assumido sem limites, ultrapassa-os, dispensa-os.
«Tenho de me libertar de toda a paixão», confidencia. «Prefiro o respeito ao amor. As pessoas não compreendem que a felicidade se atinge pela renúncia, não pela posse.»
Torna-se público o seu pavor pelos contactos populares, pelas festas, pelas inaugurações. «É-me uma tortura falar em público. Se fosse possível, nunca faria um discurso.» Foi, no entanto, pela palavra escrita e dita que começou, ainda no seminário de Viseu (em palestras e jornais), a evidenciar-se.
Perder a fé
Quando, em 1921, o Centro Católico o propõe como deputado, hesita: «Começo a sentir que não hei-de ser nada — nem professor, nem deputado, nem provedor da Misericórdia —, nada a não ser uma pessoa cuja vontade se violentou de uma maneira inimiga para afinal a inutilizar e a fazer ainda mais infeliz.»
Anui, porém, a candidatar-se. Ganha. Tem 25 anos. Entra no hemiciclo, em Lisboa, mas sai no mesmo dia. Percebe que está a perder a fé. Escreve: «Não sinto entusiasmo por nada, estou morto. A política vai fazer-me infeliz, parece até que já começo a atolar-me na lama.»
Enquanto isso, «alguém lembra ao general Gomes da Costa o seu nome», escreve Cansado Gonçalves. «Quem é? Quem é?
Todos perguntaram. O proponente explica. É um professor de Economia Política em Coimbra, com uma grande ambição de ser ministro, homem feito pela Igreja, antigo seminarista, fundador do Centro Católico. E Gomes da Costa, na sua linguagem pitoresca, ordena: "Vão buscá-lo, vão lá buscar esse fradinho".» Reunidos papéis, vencidas hesitações, o jovem pega numa maleta de couro, toma o comboio e dirige-se ao acampamento, de terra batida, do vencedor do 28 de Maio.
«Chegou todo de negro, a verem-se-lhe os nastros das ceroulas por cima do cano das botas», prossegue Cansado Gonçalves. «Parecia um borrão de tinta no meio de fardas reluzentes. Salazar viu a situação, ouviu aqueles incultos, alarves homens transpirando ambição por todas as palavras. Conheceu a gente com quem estava metido. Viu que o País não resistiria seis meses entregue àquela quadrilha.» Não aceitou.
Em Junho de 1926 Mendes Cabeçadas quere-o nas Finanças. Apela, pede a amigos comuns para apelarem ao seu patriotismo. Salazar volta a pegar na mala — e volta (treze dias depois) a regressar. O Mondego continua-lhe mais resguardador do que o Tejo.
No leito de morte, a mãe, Maria do Resgate, exortara-o, jamais o esquecerá, a aceitar o poder: «Se te chamam, meu filho, é porque precisam de ti.»
Ela revelou-se a pessoa mais marcante da sua vida, a única a quem se ligou profundamente, visceralmente. «Se a minha mãe não tivesse morrido eu não seria», afirma, «ministro; ela não podia viver sem mim e eu não podia trabalhar com a sua inquietação.»
Antes de expirar, em São Bento, Salazar ciciará: «Sim, mãe, sim.» Nunca, referiu-me Maria de Jesus, a invocava em voz alta.
Dois anos volvidos, o presidente Carmona faz saber ao chefe do Governo em formação, Vicente de Freitas, que só aceita nas Finanças «o talentoso professor de Coimbra».
O destino inclina-se, finalmente, a todas as suas exigências.
Salazar gostava de sentir a presença das crianças à distância. A excessiva proximidade da sua inocência inquietava-o, tinha pena de as saber tão transitórias, rapidamente cresciam, adquiriam a mentalidade interesseira, rasteira, dos adultos — sempre a pedincharem coisas, como se ele fosse um Pai Natal, a lamuriarem desgraças, como se ele pudesse dar a felicidade, a traírem compromissos, como se ele fosse um traficante.
A natureza humana decepcionava-o cada vez mais. Agradecia ao destino o tê-lo livrado de procriar, o não ter filhos era-lhe um alívio imenso.
Nenhum dos seus colaboradores o entenderia se lhes confidenciasse isso. Apenas Jorge Pablo, amigo discreto e secreto, o seguia por jornadas de semelhantes cumplicidades.
Uma guerra mundial (a segunda) prestigiou-o; uma guerra regional (a africana) esfacelou-o. Entre as duas jogou, esgotou a existência. Perspicaz, lúcido na política externa, revelou-se redutor, maniqueísta na interna. Foi, por certo, um dos homens mais sós e áridos que o poder português gerou em toda a sua História.
Complexos, fantasmas, crueldades, intolerâncias, impediram-no de seguir a vida que a natureza lhe pedia, pendia.
As razões de Estado sobrepuseram-se-lhe às do indivíduo, as das conveniências às dos sentimentos — não reconhecendo nunca quão trágico isso era.
Os momentos em que o País se inferiorizou foi quando as seguiu (matando Dona Inês, abandonando D. Fernando); os momentos em que se engrandeceu foi quando as recusou (proibindo a escravatura, abolindo a pena de morte).
«Salazar pretendia portugalizar as instituições, o regime», afirma Yves Léonard. «Quis reinscrever a sua origem política na linha da grande História nacional. Era um autocrata. Pacífico, prudente, afastou as populações de toda a intervenção pública. A política era pensada por elites, dirigida por elites. Tomou o poder pela habilidade, não pela força.»
Os poucos amigos que conservava eram, salvo raras excepções, do tempo da juventude (quando ainda não tinha poder), estudante aplicado e pobre (vivia da mesada da madrinha), habitador de repúblicas (Os Grilos), interventor em questões de Direito, de ideologia, colaborador de jornais (como o Imparcial, dirigido por Cerejeira), opositor de todas as correntes, ideias, obras, comportamentos modernistas.
Assumia gestos de pequenez incomum, como quando discutia o preço das coisas (chegava a fazê-lo directamente pelo telefone), quando despedia colaboradores (os ministros sabiam que iam deixar de o ser ao verem ser-lhes retirado o polícia da porta), quando cortava a palavra aos interlocutores.
A um íntimo que o visitou no dia em que dois dos seus filhos partiram (um para os Estados Unidos, a fim de se especializar em medicina, outro para a índia, a fim de combater no Exército) e lhe disse que o primeiro ia ganhar a vida e o segundo talvez perdê-la, Salazar, muito sério, respondeu: «Se a perder será pela Pátria e isso constituirá motivo de orgulho.»
Não tinha, como todos os que se sabem eleitos, as pessoas vulgares em grande conta. A vida que a natureza transmitia sobrepunha a que a inteligência modelava. A sua foi de invenção, sentado em tronos de fios, de pensamentos, de comandos, de telefones (ele próprio fazia as suas chamadas), de ardis.
Aos chefes de gabinete (Leal Marques, José Manuel da Costa), Maria de Jesus fazia-lhes a vida negra, como a quase todos os que trabalhavam de perto com ele, espiando-os, denunciando-os, intrigando-os, infernizando-os.
De uma cela de São Bento, Salazar construiu, sem se mexer (pertencia à raça dos imóveis, tão fecunda entre nós), um regime que durou enquanto ele durou.
Povo de estáticos e andarilhos, o português tem tido em uns e outros motores surpreendentes de afirmação — Camões e Fernão Mendes Pinto erigiram, sem se deter, Portugal no mundo; o Infante e Pessoa erigiram, sem se mover, o mundo em Portugal.
A encenação do Estado Novo afirma-se, à superfície, forte, de arquitectura pesada, com colunas altas, volumes frios, quase sacralizados. Perante ela as pessoas sentem-se pequenas e desprotegidas. As obras públicas, o Estádio Nacional, a Faculdade de Letras, o Instituto Superior Técnico, o Hospital de Santa Maria, as pontes, os viadutos, esmagam, como as catedrais de outrora, o cidadão comum.
No lado oposto a isso, é criado o inverso disso: as obras sociais, as casas de renda económica, as aldeias dentro de Lisboa, os oásis de moradias e árvores, as redes de assistência e amparo, que transmitem a ideia de uma política de previdência humanista e justa.
São lançados os edifícios das escolas primárias, das casas do povo, dos correios, dos postos de polícia, das estações de caminho-de-ferro, das colónias de férias, dos mercados abastecedores.
Tudo no regime tem uma harmonia, uma moral — e o que não tem é, em nome dessa harmonia, dessa moral, eliminado.
«A Igreja dá-lhe cobertura completa. Estabeleceu-se, aliás, um sistema de vasos comunicantes entre ela e o Estado Novo», sublinha-nos Avelino Soares, ex-sacerdote e historiador. «Salazar funciona como o pai, Cerejeira como a mãe. São imagens muito fortes no nosso imaginário: o pai austero, celibatário e casto; a Igreja (Cerejeira) sua serva fiel, como a mulher nas antigas sociedades rurais patriarcais. A cultura eclesiástica, a visão eclesiástica do mundo, dominam o País desde o início da nacionalidade.»
Salazar e os seus tentam reformular a Idade Média (para eles a Idade Ideal) no século XX. Os seus valores inspiram-se nos dela, nos da cultura cristã depositada no inconsciente do povo. O chefe é mais importante do que os acontecimentos em que participa, os acontecimentos são, aliás, apenas pretextos para a sua presença. É ele o herói que faz a história, não são os outros, não são as massas. Inaugurações, discursos, estreias, solenidades, visitas, jogos, desfiles, prémios, funcionam unicamente como adereços para o enquadrar, o endeusar.
A fonte do seu poder vem de Deus, do destino, não dos votos, não das multidões; o comando é-lhe ungido pelo Senhor. Questioná-lo é pecar. Por isso, Salazar despreza a democracia e a tecnocracia, a massificação e a oposição, o igualitarismo e o consumismo; por isso é implacável e ambíguo com os que o enfrentam — só a piedade pelo arrependimento o demove.
«Os grandes homens, os grandes chefes, não se embaraçam com preconceitos, com fórmulas, com preocupações de moral política», explica a António Ferro. «A violência pode ter vantagens, mas não na nossa raça nem com os nossos hábitos. Em Portugal não há homens sistematicamente violentos. Fraquejam todos a meio caminho. O caso das nossas revoluções é significativo. Há que governar tendo sempre em conta esse sentimentalismo doentio a que chamamos bondade.»
A frase «a minha política é o trabalho» torna-se emblema, bandeira a inibir participações, álibi a justificar vigilâncias. «Os políticos não são o País, embora por vezes se arroguem a exclusiva interpretação dos seus interesses. Sendo assim, que importa desgostar os políticos? O poder só pode agradar aos tolos ou aos predestinados. Todos os que, como nós, não podem enfileirar em nenhum desses grupos sentem-se deslocados», diz.
Salazar tem um «pensamento coerente», um «discurso moral». Pretendeu «disciplinar o povo pelo silêncio», pela «invisibilidade». É o seu nome, não a sua imagem, que se torna objecto de culto. Quis ser «sublime no anonimato e no desaparecimento», anota o ensaísta José Gil. «Ele fazia calar nas pessoas a compreensão e a expressão da sua situação real, conduzindo-as a uma oscilação entre autojuízos extremos e opostos: não somos nada, não valemos nada, e somos os melhores, somos génios e heróis.»
«À demagogia da palavra fácil, Salazar prefere o requinte da palavra sibilina. Empenha-se na eliminação dos concorrentes e na vassalização dos colaboradores», destaca Sottomayor Cárdia.
De instrumento de militares passa a instrumentalizador de militares. Com a Igreja faz o mesmo.
«Quis sempre que os funcionários superiores ganhassem o menos possível para melhor os neutralizar com a expectativa de subsídios e conselhos de administração em empresas», ainda Sottomayor Cárdia. «Fez-se inimigo jurado da industrialização, porque faria avolumar o operariado. Foi suspeitoso do investimento estrangeiro e hostil à Europa e aos Estados Unidos porque queria furtar-se à pressão do mundo para que Portugal aceitasse ser século XX.»
Há quem, com incontida ironia, diga que ele foi o nosso primeiro grande ecologista.
Compreendendo que não pode proporcionar a felicidade ao povo, nem a ilusão dela, Salazar tenta dar-lhe a resignação por ela. Afasta o mais que pode as tentações do progresso (acima das nossas possibilidades), da igualdade, do consumismo, da intervenção, «miragens de demagogos», repetia, de «manipuladores» e «intriguistas».
Sabia-se impotente ante o peso das grandes famílias (a oposição falava em duas centenas) que dominavam o território. O «equilíbrio das desigualdades», como chamava à ordem social existente, não podia, ainda, ser anulado; quando muito, disfarçado. A mudança da monarquia para a república de pouco valera; os mesmos grupos, os mesmos indivíduos (os diferentes revelaram-se idênticos, ou piores), transitaram de uma para outra com todos os seus privilégios e hipocrisias - e transitarão para o regime que suceder ao seu.
Às vezes sentia desejos irreprimíveis, confiava a Jorge Pablo, que «tudo se desmanchasse», libertando-o do papel de zelador ao serviço dos outros.
É dos primeiros a perceberem que a mundialização da economia e da cultura não passa de um disfarce para novos imperialismos; a perceber que a classe média — a que garante estabilidade, durabilidade aos sistemas — continuava a ser conservadora, moralista, hipócrita, beata, mesquinha, invejosa, covarde. Daí continuar a exigir, como observava Eça, «mantos diáfanos» de respeitabilidade para, sob eles, fazer todas as safadezas.
O Estado Novo tornou-se-lhe esse «manto diáfano», o presidente do Conselho, essa respeitabilidade.
«Falam-me da integração europeia: na minha opinião é preciso ver muito mais alto e mais longe. A Europa entregue à sua solidão será estrangulada», especifica. «O que lhe garante a vida é, antes de mais nada, a vitalidade das nações que a compõem e, depois, o Atlântico e a África. A África é a maior e talvez última grande oportunidade da Europa. Se as nações europeias se cansarem do seu esforço secular e não estiverem dispostas a prossegui-lo (...), nenhuma construção será viável. Assistir-se-á a uma reviravolta da História e creio que a civilização ocidental retrogradará em vastíssimas áreas. A prudência aconselha-nos a não nos separarmos das colectividades africanas. A África é imprescindível à sobrevivência da Europa.»
A os fins-de-semana gosta de acordar com o bulício das garotinhas (chegou a haver 13 em São Bento) a rirem, a tagarelarem. Uma sensação de infância (as irmãs a cirandar no quintal, a mãe a fazer frituras de canela) dilata-o, levita-o. Fecha os olhos («permanecia muito tempo de olhos fechados, a ouvir, a pensar», recordará Dona Maria), fecha os olhos e sorri. Não sente dores de cabeça, não tem preocupações de governo. O sol e os pássaros afagam a vivenda, ao longe ouve o raspar dos eléctricos na calçada, os apitos dos vapores no cais. Gosta desses ruídos, como no Vimieiro gostava dos dos carros de bois, rodas de madeira chiando nos empedrados. Os sinos da Estrela fazem eco, ali, lugar meio cidade, meio aldeia, onde inventara família, estabilidade, mando, poder.
Um gesto seu, um capricho seu, e o País, e o Império, e milhões de pessoas neles, estremeciam. Experimentava deleite e terror pensá-lo, saboreá-lo.
Toda a visão governativa assentava-lhe numa coisa comezinha: as massas não gostam de mudanças. Sentindo-o como ninguém, imobiliza o País, imobiliza-se no País.
Deixa, no entanto, os seus colaboradores mais irrequietos terem a ilusão de que inovam, de que modernizam. Duarte Pacheco estoira-se contra uma árvore acreditando nisso; António Ferro desilude-se e afasta-se (e Humberto Delgado, e Henrique Galvão, e Adriano Moreira) por causa disso.
«Só consigo estar no Governo porque nunca saio da rotina. Como poderia aguentar estes anos a ganhar eleições, ir ao Parlamento responder a perguntas, correr a inaugurar coisas?»
Salazar não quis nunca o cume da ribalta. Ficou-lhe sempre, propositadamente, aquém. Esses milímetros de diferença constituíram a sua zona de segurança, de ambiguidade. «Sinto que a minha vocação era ser primeiro-ministro de um rei absoluto», exclama.
No seu exílio em França, nos arredores de Paris, Dona Amélia comenta para o embaixador José Nosolini, que a visita: «Diga ao presidente do Conselho que, se pudesse, o faria rei de Portugal.»
O seu secretário e aio, capitão Júlio Costa Pinto, não compartilha, no entanto, como outros monárquicos, do entusiasmo da soberana, por achar «a modéstia de Salazar uma manifestação doentia de vaidade».
O chefe do Governo havia convidado a rainha a abrigar-se no nosso País durante a guerra - o que ela recusa. Afrontando os invasores, faz hastear no Castelo de Bellevue, onde reside, duas bandeiras: a da França (potência ocupada) e a de Portugal (potência neutra).
Terminado o conflito, acede com gratidão a um novo pedido de Salazar para nos rever. Em Maio de 1945 chega a Lisboa, hospedando-se no Avis. É delirantemente aplaudida pelos populares nos locais que visita. Salazar oferece-lhe um almoço (ele próprio escolhe a ementa e supervisiona o arranjo das salas) em São Bento, Cerejeira celebra-lhe missa no quarto do hotel, Carmona recebe-a com especial afectuosidade.
Quando a monarca faleceu, a 26 de Outubro de 1951, o presidente do Conselho enviou-lhe, de avião, uma cruz de camélias brancas colhidas nos jardins da Pena; e declarou três dias de luto nacional, bem como a trasladação dos seus restos mortais para São Vicente, onde se encontram junto dos do marido e do filho.
Portugal, que é um dos países mais antigos da Europa, é um dos mais infantilizados dela. O seu crescimento foi, na verdade, interrompido quando, virando costas ao continente, e a si próprio, se precipitou pelos mares fora.
Salazar actuou de acordo com esse infantilismo, ou seja, como um pai, um catequista, um polícia, severo, impiedoso, inacessível, inamovível.
Saído dos Painéis (onde Leitão de Barros o descobriu, rosto fechado, no tríptico esquerdo), debateu-se entre o positivismo coimbrão e o nacionalismo lusitano, desnivelando-se sobre balancetes financeiros, misticismos históricos, arrepios esotéricos.
Tece vários véus de protecção: regentes escolares no ensino primário, controlos nas rendas de casa e no preço do pão, estabilidade nos funcionários públicos e nos militares, patriotismo na cultura e no pensamento, rituais nas instituições e nas memórias.
Tudo o que pudesse ferir semelhante equilíbrio era implacavelmente combatido. A Censura Prévia (para a criatividade e a informação), a PVDE/PIDE (para a repressão política e cívica), a PSP, a GNR, a Judiciária, a Guarda Fiscal (para as manifestações individuais e sociais), fizeram-se filtros do regime.
O presidente do Conselho, que os dirigia atentamente, recusava, porém, macular-se com o que se lhes passava a jusante. Assumia, aliás, jogos psicológicos nesse sentido como o de autovitimar-se perante os outros a fim de poder sustentar, perante si, as medidas que instituía.
Na altura, por exemplo, do racionamento, na Segunda Guerra, ele e Dona Maria cumpriam com todo o rigor as limitações impostas. Chegavam a tirar comida dos seus pratos para a dar às rapariguinhas que albergavam.
«Nunca nada aconteceu como queria, nunca nada aconteceu contra o que queria», comenta-me Jorge Pablo.
Encontrávamo-nos com regularidade, Jorge Pablo e eu, ao fim da tarde, na Brasileira do Chiado, vindo ele, ou preparando-se para ir, a São Bento.
De uma sensibilidade fora do comum, era uma figura alheia aos radicalismos dos intelectuais da oposição, nas mesas da frente, e dos agentes da PIDE (capitaneados pelo inspector Seixas), nas mesas do fundo.
Jorge Pablo conta pilhérias dos dois grupos a Salazar, que as ouve curioso, deleitoso. Chega a pedir a Silva Pais para os seus homens não interferirem: «É bom que os descontentes tenham sítios onde desabafar, sem perturbarem demasiado os outros. Os cafés podem servir para isso.»
A polícia política tinha, metros abaixo da Brasileira, um tribunal próprio para coroar as suas actuações — e as avalizar sob o ponto de vista jurídico. Era o Plenário. Os seus réus vinham de todo o País, ilhas e colónias, trazidos pela PIDE que determinava as acusações, as provas e as penas.
Como medida de precaução, a sala enchia-se de agentes, que esgotavam os lugares destinados ao público e à comunicação social. Os médicos que assistiam aos casos mais graves de espancamentos não eram ouvidos.
O Plenário de Lisboa foi instalado na Boa Hora, num edifício centenário, com claustros e painéis de azulejos. O seu espaço fora, no século XVI, um pátio de comédias onde se representavam autos e entremezes. Mais tarde deu origem a um convento, o da Boa Hora, de três ordens religiosas.
Em 1945, o presidente do Conselho, que pretendia consolidar o controlo de defesa do Estado, criou os tribunais políticos, sucessores dos tribunais militares, para dispor de uma cobertura legal (Cavaleiro Ferreira foi o legislador) da repressão.
Sem auferirem vencimentos, os advogados dos presos (apenas 43 dos 3000 existentes no País ousaram sê-lo) viam-se igualmente perseguidos. Artur Cunha Leal recebeu um dia ordem de prisão do juiz Caldeira por insistir na defesa de um detido.
Mariano Roque Laia, Manuel João da Palma Carlos, Salgado Zenha, Vasco da Gama Fernandes, Duarte Figueiredo, José Augusto Rocha, Duarte Vidal, Macaísta Malheiros, Lopes de Almeida, Joaquim Mestre, Jorge Sampaio, Victor Vengorowius, Mário Soares foram alguns dos que mais se destacaram.
«Participei num processo em que o meu cliente era réu com mais de 100, pelo que a sessão fez-se no Castelo de São Jorge», conta-me Mariano Roque Laia.
O leque dos crimes, como o da traição à Pátria (destinado a sancionar os que preconizavam a separação do território metropolitano das colónias), aumentou. Chegaram a pedir-se penas de 20 anos de cadeia por isso.
Herdeira da Inquisição, a PIDE (que sucedeu à PVDE - Polícia de Vigilância e Defesa do Estado) preferiu privilegiar, ao horror encenado (procissões, imolações públicas), o horror interiorizado — torturas, desterros, desaparecimentos, apagamentos.
Actualizada por congéneres estrangeiras de destaque, caso da inglesa, a PIDE ganharia vida e autonomia próprias (e interesses) que salvaguardariam, durante todo o Estado Novo, os seus objectivos.
Salazar não sancionava, aliás, arroubos sanguinários como os do Santo Ofício ou do Marquês de Pombal, nem apreciava processos circenses ao gosto de Hitler, Estaline, Mussolini, Franco, Mao, Fidel.
O controlo da ordem devia, na sua óptica, fazer-se com firmeza mas discrição, persistência mas maleabilidade.
O esquema que montou (uma espécie de «roteiro do terror») mostrava-se geométrico, silencioso, ardiloso.
Os suspeitos de dissidência viam-se metidos nos curros (dois metros de largura por um de comprimento) do Aljube (adaptado para o efeito em 1933, onde estiveram, por exemplo, Mário Soares, Agostinho da Silva, Miguel Torga, Carlos Brito), e nas celas do Forte de Caxias (aberto em 1936); aí a polícia ia buscá-los para a sua sede, na Rua António Maria Cardoso, a fim de os submeter a interrogatórios, espancamentos, aviltamentos, torturas — destas, a mais praticada era a da estátua, durante a qual a vítima tinha de permanecer de pé, sem se mexer.
Na delegação do Porto, os espaços construídos lembravam despensas. Jorge Araújo, prestigiado editor livreiro, descreve que «além da tortura da água (pingos intermináveis na cabeça) e da do sono havia a do carrossel, em que quatro ou cinco guardas se punham em roda e o preso no meio a apanhar de todos. Um deles tinha a mania da régua: se o preso cambaleava, dava-lhe com ela em cutelo. Ainda tenho a marca no nariz».
Terminada a fase da instrução, seguiam-se as do julgamento, a da condenação (as sentenças eram, com frequência, acompanhadas de medidas de segurança que prolongavam indefinidamente as detenções, forma de legalizar a «prisão perpétua») e a da transferência ora para os presídios de Peniche e Caxias, ora para os campos do Tarrafal e São Nicolau. A Fortaleza de São João Baptista, em Angra do Heroísmo, nos Açores, também foi utilizada como cárcere.
Decalcado dos campos prisionais nazis e comunistas, na concepção arquitectónica, na estrutura esventradora, o Tarrafal tornou-se um nome negro na nossa História.
Situado nos arredores da cidade da Praia, em Cabo Verde (perto de uma zona paradisíaca da ilha), destinou-se a albergar, isolando-os, aniquilando-os, os elementos mais activos da oposição. Estes não recebiam nem correio, nem medicamentos, nem assistência, nem socorro. Em períodos de epidemias (chegavam a morrer diariamente seis pessoas) acendiam-se à volta do perímetro que o delimitava fogueiras para evitar a propagação, ao exterior, das doenças acumuladas.
A sua zona mais ignominiosa, designada por frigideira, consistia num minúsculo barracão de cimento coberto de chapas de zinco, onde se fechavam os castigados sob temperaturas superiores a 60 graus centígrados. Edmundo Pedro, ido para lá em 1936 (ano em que foi inaugurado), sofreu e aguentou 70 dias nesse suplício.
Um médico nele preso, Manuel dos Reis, denuncia a situação em 1944: - 226 detidos, 72 não julgados, 55 com pena cumprida há vários anos, 28 mortos.
Encerrado por pressão internacional em 1954, o Campo da Morte Lenta, como passou a ser designado, seria, no entanto, reaberto com o eclodir da Guerra Colonial para os presos pertencentes aos movimentos de libertação.
A GNR, a PSP, a Judiciária, a Guarda Fiscal, a Censura, a Legião e a Mocidade portuguesas vigiavam, por sua vez, com a colaboração de autarcas, funcionários, sacerdotes, militares, fiscais, comerciantes, advogados, médicos, porteiras, jornalistas, taxistas, professores, informadores, o grosso das populações, num amornado ambiente de suspeição e delação.
Recuperar os valores que fizeram de Portugal uma nação de referência no mundo — pelos seus elementos criativos (literatura, navegações), espirituais (crença no Espírito Santo), cívicos (comunitarismo), universalistas (mestiçagem) - levou Salazar a conceber uma oportunidade de os assumir, a fim de aumentar, internamente, a nossa auto-estima e, externamente, projectar a nossa diferença.
- Dinis (que salvou os Templários mudando-lhes o nome, plantou os pinhais para as naus dos Descobrimentos, instituiu o português como língua oficial) e o infante D. Henrique (que, da sua fortaleza de Lagos, desocultou as rotas do globo) eram-lhe símbolos (pára-raios) das energias cósmicas que, segundo ele, incidiam no País.
Uma grandiosa (quase feérica) e fragilíssima (quase imaterial) exposição desse arco-íris de água tornou-se, então, coroa de celebrações inesquecíveis.
Vestido a rigor, fato escuro, chapéu, luvas, Salazar chegou, numa manhã de Junho de 1940, à Praça do Império. Daí a pouco surgiam o Cardeal, os ministros, o corpo diplomático e o Presidente da República. A mostra inaugurava-se com fanfarras e pompas, revelando-se o maior espectáculo do nosso império.
Retalhada pela guerra, a Europa acompanharia nos dias seguintes, com perplexidade, as imagens do acontecimento. Fotografias dos embaixadores da Grã-Bretanha e da Alemanha cumprimentando-se sorridentes fariam primeiras páginas na imprensa internacional — e embaraços nas chancelarias dos países em conflito.
Num mundo de hecatombes, Portugal emergia como uma nave de luzes, músicas, canções, sorrisos, felicidades, acima do tempo e da realidade; como se, recusando o presente, os seus responsáveis tentassem antecipar o futuro, para o fazer seu.
Imperturbáveis, os visitantes percorriam a Expo que os seduziu pela sua «expressividade, originalidade, criatividade, autenticidade e comunicabilidade» — os cinco «ades» pretendidos por Júlio Dantas, seu presidente.
Em forma de casulo, pousado entre a Junqueira e Belém, a Ajuda e o Tejo, o engenho agrupava três blocos temáticos (histórico, etnográfico e colonial) dispostos em losango.
Por um escudo e meio, o público encetava, fascinado, uma viagem de maravilhamento. Os pavilhões de Honra, da Fundação, da Conquista, da Independência, dos Descobrimentos, da Colonização, de Lisboa, dos Portugueses no Mundo, de Portugal de 1940, do Mar, das Artes e Indústrias, a Casa de Santo António, o Bairro Comercial, o Centro Regional, a Secção da Vida Popular, o Jardim dos Poetas, o Espelho de Agua, o Parque das Atracções, o Padrão das Descobertas, a nau Portugal, constituíram os pólos da sua estrutura — e da sua sedução.
Hoje apenas existem o monumento dos Descobrimentos, os edifícios do Museu de Arte Popular e o Espelho de Água.
Detentor de um ideário assente em obras públicas grandiosas e em realizações culturais nacionalistas, o regime entrava na era da automitificação. As comemorações do oitavo centenário da proclamação da Independência (1140) e do terceiro da Restauração (1640), então ocorridos (1940), constituíram plataformas para a sua projecção.
Salazar aproveitou-as bem. Com engenho, concebeu um evento feito de história e ficção, de passado e futuro, ao mesmo tempo popular e erudito, religioso e pagão, clássico e moderno, austero e sensual; um evento mais sugerido do que edificado, mais para a memória do que para o concreto, maneira de perdurar para lá do seu termo.
«Pretende-se uma síntese da nossa acção civiliza-dora», pormenorizou, «e da nossa acção na História universal.»
Assim se fez, assim se cumpriu. A Exposição do Mundo Português ficou uma referência na ideologia, na cultura, na propaganda. Portugal teve nela o ponto mais alto da sua simbólica colonial — e a antecipação do seu canto de cisne.
A política das comemorações assentava «numa arquitectura efémera, de propaganda, feita de estafe, carregada de elementos autoritários» e de «concepções modernistas», anotam os arquitectos Nuno Teotónio Pereira e José Manuel Fernandes.
Nela colaboraram engenheiros, pintores, escultores, escritores, compositores, artistas, cineastas, músicos, cenógrafos fotógrafos, sem discriminações políticas, ideológicas ou estéticas fracturantes.
Os portugueses não se viram, como costuma suceder, preteridos por estrangeiros. A mostra privilegiou, aliás, os autores e as obras nacionais que apoiou, dignificou, como poucas vezes tem sucedido entre nós.
Pardal Monteiro, Keil do Amaral, Maria Keil, Cottinelli Telmo, Cristino da Silva, Jorge Segurado, Cassiano Branco, Raul Lino, Martins Correia, Barata Feyo, Júlio Pomar, Almada Negreiros, Jorge Barradas, Bernardo Marques, Leopoldo de Almeida, Leitão de Barros, Matos Cerqueira, Pastor de Macedo, Norberto de Araújo, Henrique Galvão, Quirino da Fonseca foram nomes — 5000 operários trabalharam a seu lado, durante 27 meses — que a assumiram (tendo Júlio Dantas, Augusto de Castro, Cottinelli Telmo, António Ferro e Duarte Pacheco à cabeça) com talento, com superioridade.
«O Duarte Pacheco encarregou-me de tomar conta da parte eléctrica da Exposição», contar-me-á o Eng. João Maria Ferreira do Amaral. «Quando deflagrou a Segunda Guerra pôs-se a dúvida se se continuava ou não. Parámos durante um mês, depois Salazar decidiu avançar. As obras foram concluídas a tempo. Gostei muito dessa experiência.»
«Baile do Império» chamariam, com intenções diferentes, Fernanda de Castro e Natália Correia à Exposição. A primeira colaborou nela entusiasticamente, a segunda distanciou-se dela displicentemente.
Amigas íntimas, as duas poetisas eram observadoras coloridas dos acontecimentos, das personalidades, dos factos políticos e culturais que as envolviam — uma enaltecendo-os, outra denegrindo-os.
«Não passou de uma quermesse possidónia. A populaça adorou, ela adora tudo quanto seja circo e arraial», exclamava Natália Correia.
«Foi um deslumbramento, algo que tocou para sempre a nossa alma, o nosso orgulho», contrapunha Fernanda de Castro. «Dizia aos que trabalhavam comigo: isto tem de ficar como se fosse um baile.»
A expressão alargou-se. Alguns, como António Lopes Ribeiro, Vasco Santana, Almada, chalacearam com ela. Salazar, que a ouviu, achou-lhe graça. «Ele tinha, apesar da sua sisudez, sentido de humor», contar-me-á a viúva de António Ferro. «Gostava de saber tudo, chegava a ser maníaco nisso. Telefonava com frequência para inquirir do andamento dos projectos. Conhecia em profundidade todos os temas abordados no certame. Até pelas questões técnicas, de luzes, de maquinarias se interessava. Foi várias vezes observar pessoalmente como iam as coisas. Aparecia fora de horas, discretamente, com o meu marido ou com o Duarte Pacheco. Nunca com os dois, pois eles não se entendiam. O Duarte Pacheco era muito conservador em questões de cultura. Salazar divertia-se com as suas rivalidades, como se divertia com as que opunham o Augusto de Castro e o Júlio Dantas, os dois responsáveis máximos da iniciativa. Quando ficavam de candeias às avessas, telefonava cá para casa e dizia ao António: "Lá andam eles de novo às turras. Vá ver o que foi desta vez e veja se resolve o assunto." Isso aconteceu com frequência.»
No dia da inauguração, estava o Presidente Carmona a entrar por um dos lados e eu, no lado oposto, de vassoura na mão, avental e pano amarrado à cabeça, pormenoriza-me Fernanda de Castro. «Vieram prevenir-me a correr, arranquei o pano da cabeça, passei um pente pelos cabelos, uma borla de pó-de-arroz pela cara e, amável, sorridente, fui ao encontro do não menos amável, sorridente, general.»
Outra entusiasta da Exposição seria a escritora Maria da Graça de Athayde: «Todos os aspectos de Portugal estavam nela evocados», recorda, «desde as figuras dos reis e dos grandes homens, aos grandes feitos, às grandes terras. Em tudo havia beleza e imponência. Recordo com muita ternura os garotos que, nas ruas, vendiam bandeirinhas do Portugal antigo apregoando: "Quem quer a bandeira da Fundição", em vez de Fundação?»
A reconstituição da parte velha de Lisboa tornou-se a zona mais popular do certame, pelas lojas, restaurantes, vendedores, animadores, que a coloriam. Erguida junto aos prédios antigos do local (Duarte Pacheco arrasou um quarteirão inteiro para aumentar o espaço), fez-se centro de festas e divertimentos que ficaram na memória dos que os viveram.
O embaixador Orlando Bastos Vilela refere-me, por exemplo, a comicidade que tinham os «julgamentos populares» ali encenados com grande receptividade. «Actores vestidos de polícias do Pina Manique prendiam pessoas famosas que iam ao recinto e levavam-nas a tribunal. Outros actores, que faziam de advogados e juízes, julgavam-nas. Lembro-me de ver o Vasco Santana ser sentado no banco dos réus. As acusações que lhe fizeram foram divertidíssimas: as de fazer rir o público sem parar. As condenações que lhe impuseram foram igualmente divertidíssimas: continuar a fazer rir o público sem parar.»
De passagem por Lisboa, a caminho dos Estados Unidos, Antoine de St. Exupéry, autor de O Principezinho, exprimia o seu deslumbramento: «Lisboa surgiu-me como uma espécie de paraíso claro e triste. Lisboa, que edificou a mais deslumbrante exposição que já houve no mundo, sorri com um sorriso pálido. Errei melancolicamente por ela. É de um bom gosto extremo, tudo parece tocar a perfeição! Portugal aferra-se à ilusão da sua felicidade, fala com uma confiança desesperada. A falta de exército, à falta de canhões, o país ergueu contra o ferro invasor todas as suas sentinelas de pedra: os exploradores, os conquistadores, os poetas.»
Éramos o único país da Europa, assinalavam com ironia os jornais franceses, onde se consumia livremente café, chá, cacau. E vinho.
Os visitantes mergulham nas imagens de felicidade, de segurança, de esperança, que o Estado Novo lhes oferece. A festa faz-se para «dar ao povo um tónico de alegria e confiança em si próprio, para afirmar a sua capacidade realizadora», destaca o chefe do Governo.
Na Doca do Bom Sucesso, a nau Portugal, reprodução dos galeões setecentistas da carreira das índias, era um fascínio, um relicário flutuante de rigor e cor.
Concebida por Leitão de Barros, adernaria, no entanto, pouco depois de ser retirada do cais. Um golpe de vento, em noite de borrasca, naufragou-a. «Foi um presságio, que não soubemos interpretar, do afundamento do império», exclamará Fernanda de Castro.
Salazar revelou-se de um maquiavelismo diplomático notável. A sua melhor actuação política foi, por certo, a que exerceu quando ministro dos Negócios Estrangeiros, no final da década de 30 e começo da de 40.
«Tornou-se muito mais avançado a lidar com os de fora do que com os de dentro», comenta-me o embaixador Franco Nogueira.
A estratégia por si delineada alargou a influência de Portugal, a partir da Guerra de Espanha, e evitou que o País entrasse, convencendo Franco a segui-lo, na Segunda Grande Guerra.
Cedo percebe que o conflito que retalha a Espanha é apenas um preâmbulo de outro muitíssimo mais vasto; que a luta vai ser longa, implacável.
Passa noites em claro, a testa colada aos vidros das janelas a ver a madrugada nas árvores, nas vibrações de São Bento — tentando decifrar enigmas, captar sinais. A angústia da inquietação, da insegurança, toma-o. Duvida e adoece, recupera e reage, por ciclos rápidos, repetidos.
A Censura impede que os portugueses se apercebam do que se passa no país vizinho. Dele apenas chegam refugiados e clandestinos, e notícias de matanças, de assaltos, de fuzilamentos.
Salazar avança estratégias cruzadas. A autoflagelação de Castela significa o esvaziamento do perigo de uma invasão, que ele teme. Chega, pelos microfones da Emissora Nacional, a alertar: «A Espanha pretende construir a Federação Ibérica das Repúblicas Socialistas.»
A ajuda gradualista que presta a Franco permite-lhe combater comunistas, anarquistas e democratas, comprometer nacionalistas, falangistas e iberistas, iludir ingleses, franceses e alemães.
A esquerda portuguesa estabelece, entretanto, ligações com o poder republicano, que lhe retribui enviando clandestinamente armas e propaganda. Salazar domina a irritação: precisa de serenidade para tecer a sua teia, a vários níveis e em vários novelos.
A subida ao poder, em Espanha, dos republicanos lançara-o em grande agitação. Quando se preparava — estabilizado o regime e equilibradas as finanças — para colocar o Estado Novo em velocidade de cruzeiro, via-se a braços com a turbulência desabada do lado de lá da fronteira.
Rápido, chama a si as pastas da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, corta relações com Madrid, aproxima-se de Londres, abre suportes aos nacionalistas. Ultrapassadas as desconfianças que o Caudilho inicialmente lhe inspirara (este tinha apresentado, no final do seu curso militar, um plano para invadir Portugal), o chefe do Governo monta uma complexa estrutura a seu favor.
Caravanas de camiões levam-lhe alimentos, armas, remédios, dinheiro, roupas, munições, combatentes. Linhas de crédito bancário (na Caixa Geral de Depósitos e no Banco Lisboa e Açores) são-lhe abertas.
Internamente endurece a repressão, para inibir contestações, abrindo Caxias e o Tarrafal. A oposição joga-se, apesar disso, e por isso, em sucessivas revoltas, greves, sabotagens, confrontos, marcados pelo atentado bombista, a 4 de Julho de 1937, ao carro de Salazar, que escapa, porém, incólume - dando pretextos para a hegemonia imparável da polícia política. A Guerra Colonial irá mais tarde reforçar o seu papel dominador, só perturbado pela paralisia governativa de Marcello Caetano.
«A PIDE fez um trabalho notável em África pelas informações que fornecia, permitindo-nos obter resultados superiores à nossa capacidade de combate», referia-me Costa Gomes, admirador assumido daquela instituição, condecorado por ela e defensor dela: «Lamento sinceramente que agentes seus tenham cometido a tolice de terem, no 25 de Abril, aberto fogo, matando alguns manifestantes. Spínola e eu, para os salvar, mandámos prendê-los. Depois facilitou-se-lhes a fuga e a saída discretas, até ao seu semiesquecimento.»
O Alentejo torna-se, na Ibéria, a primeira base aérea dos «reconquistadores». O Rádio Clube Português e o Diário de Lisboa (então situacionista) viram órgãos de propaganda activa, sob a acção, ambos, de Botelho Moniz. O Estoril faz-se um pólo poderoso de monárquicos espanhóis. Dele partirá para a sua viagem fatídica o general António Sanjurjo, que deveria chefiar, em vez de Franco, os revoltosos.
De inimiga secular, a Espanha transmuta-se em tampão providencial contra o nazismo, o comunismo, o internacionalismo. Salazar percebe que pode, deve fazer com ela um bloco neutral. Neutral mas não descomprometido.
No dia em que recebe a notícia da rebelião de Franco, seguida do levantamento de várias regiões militares (18 de Julho de 1936), bebe ao jantar um cálice de Porto — e passa a noite junto à telefonia, com a governanta a fazer, madrugada fora, peúgas de malha e chás de tília.
Os que ostentam entusiasmo pelos franquistas multiplicam-se às claras, com a imprensa, o clero, a nobreza do seu lado; os que nutrem esperança pelos republicanos silenciam e afastam-se.
É dado ao conflito um valor de cruzada, de guerra santa. O Diário de Lisboa exclama: «Uma cruz defende a Ibéria, a cruz formada pela espada de D. Sebastião e pela lança de D. Quixote.»
As grandes potências, que a princípio respeitaram a escolha do povo espanhol, imergiram, com o evoluir da situação, em comportamentos de generalizada obscuridade. «Todos apoiavam os dois campos em conflito, mas todos simulavam uma rigorosa neutralidade», destaca o historiador César Oliveira.
Os 37 países que assinaram, em Agosto de 1936, o Acordo de Não-Intervenção (entre os quais Portugal) depressa o esqueceram e desrespeitaram.
A uma primeira fase da revolução, revolução espontânea, populista, feita de baixo para cima, segue-se uma fase de guerra de blocos, estruturada, manipulada de cima para baixo. Os comunistas hegemonizam (após o massacre dos anarquistas e trotskistas) a luta da esquerda, com a URSS a fornecer-lhes directamente armas e apoios.
Do lado oposto, os nacionalistas organizam-se na Falange — que rompe em espirais de força e fanatismo. O terror abate-se, nos dois campos, sobre milhões de espanhóis.
Seis estados (Espanha, Itália, Alemanha, França, Inglaterra e Portugal) entram no conflito. Muitos outros (da União Soviética aos Estados Unidos) têm gente sua a combater nas Brigadas Internacionais (apoiantes dos republicanos), na Legião Estrangeira (apoiante dos nacionalistas) e nas forças no terreno. «É uma guerra internacional num espaço nacional», observa Salazar.
Milhares de voluntários chegam de vários continentes e estratos (comunistas, socialistas, anarquistas, trabalhistas) para ajudar os republicanos. André Malraux foi um deles. Como o foram, de entre os portugueses, Álvaro Cunhal e Emídio Guerreiro.
Emídio Guerreiro destaca-se cedo nos meios universitários e oposicionistas de Lisboa. A sua imagem de revolucionário romântico e elegante sensibiliza a fantasia dos jovens que o rodeiam. Comprometido em conspirações avulsas, exila-se no Norte de Espanha onde a revolta de Franco o apanha.
«Estava de férias em Vigo, era professor em Santiago de Compostela, quando a guerra rebentou», conta-me. «Fiquei bloqueado.
Não podia ir para Madrid nem para Lisboa, de onde tinha fugido. Os fascistas dominaram imediatamente a Galiza. O terror foi absoluto. Tentámos fazer-lhes frente, mas não conseguimos. Tive de me esconder. Foram dias terríveis, cheio de medo, sem saber o que fazer. A todo o momento podia ser descoberto e fuzilado. Foi então que o cônsul inglês na cidade me ajudou, metendo-me num barco britânico que ia para Gibraltar. Salvou-me o facto de ele ser da Maçonaria, como eu. Daí passei a França.»
Depressa retoma, porém, ao país vizinho. Quando o conflito entra na fase final giza, a partir de Barcelona, um plano de fuga para os seus companheiros, entre os quais Jaime Cortesão, e para si. «Fomos dos últimos a partir. Atravessámos os Pirenéus a pé, cheios de frio por causa da neve, sem transporte. Valeu-nos o guia que tínhamos. Estive internado numa escola adaptada a hospital onde havia muitos exilados. Vi lá coisas horríveis. Consegui escapar. Os outros portugueses foram levados para um estádio transformado em campo de concentração, no território francês. O Jaime Cortesão, como tinha passaporte, seguiu sem problemas.
Ao rebentar, pouco depois, a Segunda Grande Guerra, Emídio Guerreiro sofre, em França, a invasão alemã. De novo passa para a clandestinidade e para a luta. De novo torna-se herói.
O nosso País tem, a certa altura, cerca de 20 000 homens em ambas as barricadas. Jorge Botelho Moniz faz-se, na de Franco, uma estrela.
É um homem robusto e dinâmico, provocador e colérico, que bate em mulheres e parte objectos. Salazar não gosta desse género de indivíduos. Detesta, aliás, embora as utilize amiúde, pessoas demasiado extrovertidas, sensuais, incon-troláveis, pagãs.
Em jovem, acompanhou Sidónio na revolta de 1917 e Gomes da Costa na do 28 de Maio. Comandou os militares que, desembarcados em Machico (uma amante que tivera no Funchal permitiu-lhe conhecer bem a ilha], reprimiram a Revolta da Madeira. Fundou o jornal A Situação e o Rádio Clube Português. Impulsionou o lançamento da Legião Portuguesa e da RTP.
«A luta, o combate, eram uma verdadeira vocação para ele. Gostava de ir para a frente, de derrotar o inimigo e, principalmente, de vencer», anota Mattéi Maryline, sua biógrafa.
Botelho Moniz e os subordinados divertem-se por botequins de Madrid (sem saberem que Salazar proibira os portugueses de se associarem às manifestações de vitória dos franquistas), após o que regressam a Lisboa. Um comboio deixa-os, em Junho de 1939, na estação do Rossio entre multidões que os aclamam em delírio. Contrariado, o presidente do Conselho, que os recebe, limita-se a dizer: «Orgulho-me que tenham escrito pela vossa valentia mais uma página heróica da nossa História e da alheia.»
Morre aos 63 anos, «na cama, a dormir. Com uma enfermeira defronte e sem nenhuma das várias mulheres que teve», recorda-me Conceição Botelho Moniz, sua filha.
O fim da luta em Espanha seria apenas o fim de um acto num drama interminável; um intervalo para mudança de cenários, de ritmos, de tempos, de figurantes.
No conflito ibérico «não havia bons nem maus», mas «um choque de morte» entre os que combatiam a «barbárie fascista» e a «barbárie comunista». Ninguém «ficou com as mãos limpas», conjunturava Salazar, consciente de que as duas barbáries estavam, a longo prazo, condenadas.
Manipulando as fragilidades das democracias em emergência, uma barbárie diferente, outra, dominaria, a seguir, o mundo: a do capitalismo selvagem. «A humanidade ainda não saiu da selva, ai dos que têm ilusões. O que vai acontecer nas próximas décadas em África, no Oriente, na América Latina, na própria Europa, será terrível», visionava o chefe do Governo.
Com perplexidade ele vê a União Soviética afastar-se, a partir de 1937, dos Aliados e a aproximar-se dos regimes totalitários. Profundamente abalado, lê os telegramas em que Estaline e Hitler mandam os seus ministros do Exterior rubricar um pacto de não agressão.
Distanciando-se das grandes potências, o presidente do Conselho segue uma política própria, aos ziguezagues, entre os interesses, as pressões, dos beligerantes.
Não gosta de nenhum dos líderes que, de um lado e do outro, se combatem. Hitler e Mussolini eram-lhe, pela extravagância das suas imagens, desagradáveis; Churchill e Roosevelt eram-lhe, pelo excesso do seu poder, insuportáveis. Apoia-os, no entanto, sem grandes disfarces, pelo anticomunismo que assumem.
Os recursos disponíveis — no campo diplomático, militar, comercial, industrial, social — são movimentados.
Distribui ajudas aos dois lados, vendendo-lhes volfrâmio, cordialidades e distanciamentos. Jura fidelidade aos ingleses, mas adia-lhes os Açores; manifesta simpatias a Hitler, mas recebe, através de corredores de acolhimento, judeus ostracizados por ele.
Alterar a História
A actuação, na cidade de Bordéus, do cônsul Aristides de Sousa Mendes ao passar milhares de vistos (cerca de 30 000) de entrada em Portugal a perseguidos pelos nazis, salvando-lhes a vida, comprometeu, no entanto, ao olhar possesso de Hitler, a neutralidade de Lisboa.
De imediato Salazar reage com espectacularidade: demite-o (pré-reformando-o), e torna-o alvo de perseguições impiedosas. O Fúhrer sente-se (são-lhe, entretanto, reforçados envios de volfrâmio) compensado.
Mais discretos, outros diplomatas terão nos postos que ocupam na Europa reacções humanitárias semelhantes, sem que Lisboa os penalize, casos de Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho.
Ao embaixador Leite Faria, que intercedera a favor do martirizado cônsul, o presidente do Conselho {marrano por parte da mãe e do pai) replicou, fixando-o nos olhos: «Não lhe causou estranheza que as comunidades judaicas, detentoras do capitalismo mundial, não o tenham ajudado? A mim surpreendeu-me, pois pensei que o transformassem numa bandeira contra mim.»
Entre as personalidades salvas pelo heróico diplomata português encontravam-se o actor norte-americano Robert Montgomery, o príncipe austríaco Otto de Habsburgo, a grã-duquesa Charlotte do Luxemburgo e familiares do barão de Rothschild. Este responderia a um pedido desesperado do filho de Sousa Mendes, em 1946, enviando-lhe um cheque de 30 000 escudos. Depois foi o distanciamento.
«A maneira como os portugueses nos trataram revelou-se admirável», evoca-me Sam Levy, que veio num desses corredores de liberdade. «Países neutros houve que puseram os fugitivos em campos de trabalho onde morriam de fome e de frio. Aqui não. Aqui escolheram alguns dos locais mais bonitos, como as Caldas da Rainha, a Ericeira, a Figueira da Foz, o Buçaco, o Luso, para nos acolher até chegarem os barcos que levavam os meus companheiros para a América. Havia médicos que tratavam os nossos doentes de graça. Em certos restaurantes, quando uma família de refugiados pedia a conta, não lhe cobravam nada, ou porque o dono oferecia a refeição, ou porque alguém a pagava. Havia muitas cenas assim. Não existiu outro país onde tivéssemos sido tão bem tratados como em Portugal, talvez por muitos portugueses terem sangue judeu. Senti-me tão bem que fiquei cá para sempre.»
Sam Levy faleceu na residência que ocupava na Rua Castilho, em 1999, rodeado de obras de arte, prestígio cultural e social. Apaixonado por Os Lusíadas, traduziu-os primorosamente para francês.
Salazar procurou que a Península fosse uma espécie de reserva na balança do conflito. Só assim os seus regimes poderiam sobreviver-lhe. Um país frágil, tal como uma pessoa, apenas distanciado dos poderosos logra ganhar autonomia.
«Se tivesse podido atravessar a fronteira espanhola para o Norte de África», escreve Hitler a Mussolini, queixando-se de Salazar e Franco, «isso teria contribuído para alterar a História do mundo.»
Não lhe conveio fazê-lo porque a Ibéria tornara-se território neutral. Como consequência, teve de dirigir a invasão do Magrebe a partir de Itália, com os custos que se conhecem.
«Caso Portugal tivesse entrado no conflito ao lado da Inglaterra, as pressões que Franco sofreria em virtude dos acordos existentes seriam enormes. Isso tornaria muito incerta a segurança da Península», especifica o embaixador António Leite Faria, na altura secretário em Londres
Salazar, que lhe dedica grande consideração (Armindo Monteiro, o embaixador, começava, pelo seu «anglomanismo», a irritá-lo), recebe-o e escreve-lhe com frequência.
«Eu vinha muito a Lisboa para trazer-lhe documentos secretos», conta-me. «Fiz 13 viagens como correio diplomático, algumas chegaram a ser bastante complicadas. Um dos aviões ingleses, por exemplo, foi deitado abaixo quando ia de Lisboa para Londres. Nele seguia o célebre actor Leslie Howard. Parece que os serviços secretos alemães viram um senhor muito gordo embarcar na Portela e pensaram que podia ser o Churchill.
Lisboa era na altura, dada a ocupação da França, um ponto de passagem obrigatório para a Inglaterra, para a América, para o Norte de África, para o Médio Oriente.»
Convidado pelo maestro Ivo Cruz, director do Conservatório Nacional, Leslie Howard deslocara-se ao nosso País para «ingressar no corpo docente daquela escola, a fim de reger cursos destinados a actores de cinema e teatro», revela-me Manuel Ivo Cruz, filho do compositor. «Alguns dias antes da sua fatal viagem disse a meu pai que iria a Londres arrumar uns assuntos e organizar a sua vida, na previsão de uma longa permanência em Lisboa.»
A chegada dos alemães aos Pírenéus, em 1940, provoca apreensões generalizadas. Durante muito tempo pensou-se que a invasão seria inevitável. Lisboa propôs ao Gabinete britânico conversações para a hipótese da ocupação do território. Churchill aceitou. O general Barros Rodrigues deslocou-se a Londres. Chegou-se à conclusão de que para proteger o nosso País eram necessários entre 30 000 e 60 000 homens.
A Grã-Bretanha, que não tinha armamento nem gente para o conseguir, aconselhou Salazar a fazer uma defesa simbólica da capital, Porto e Setúbal e, depois, a retirar-se para os Açores. O dirigente português aprovou o plano mas não quis partir, ao contrário dos que achavam que ele devia sair logo que os alemães entrassem em Espanha.
Pouco depois dá-se o desembarque dos Aliados no Norte de África. O embaixador britânico desloca-se, altas horas da noite, a São Bento para informar o presidente do Conselho do sucedido, e o embaixador dos Estados Unidos a Cascais para avisar o Presidente da República. Ambos garantem que isso não quebrará a neutralidade de Portugal.
Os democratas tentam criar uma rede clandestina de resistência, apoiada nos postos da Shell, para sabotar o avanço dos invasores. Londres ordena a destruição de material secreto do Governo e esquematiza a sua retirada para São Miguel.
Salazar rebela-se: «O tom intimidativo com que o embaixador Campbell se me dirigiu», evoca, «era de tal modo inadmissível que só não tivemos um conflito muitíssimo sério com a Grã-Bretanha porque eu não sabia como dizer em inglês um certo número de expressões mais violentas que, no estado de exaltação em que me encontrava, me vinham à mente.»
Não tendo estado nunca nos Açores — apenas conheceu, em estudante, a Madeira —, o chefe do Governo sabia, no entanto, tudo sobre eles, desde o nome das povoações às datas dos terramotos. Tinha os mapas das ilhas, os sumários dos costumes, as variedades das botânicas, das festas, dos cultos, na cabeça — não no coração.
Esforços laterais
Açores, Timor, índia, volfrâmio, refugiados, foram temas que levantaram crispações entre Portugal e Inglaterra, obrigando a esforços laterais de raro engenho.
«A nossa neutralidade era um pouco artificial», sublinha António Faria. «Havia pessoas que admiravam o Hitler, mas a nível oficial nunca houve expressões nesse sentido. O Governo prometeu ao embaixador inglês que faria sempre uma política de neutralidade tão benévola e equilibrada quanto possível. A questão do volfrâmio tornou-se, por exemplo, significativa da actuação de Salazar que o vendia simultaneamente à Grã-Bretanha e à Alemanha. De um dia para o outro, cancelou as exportações para ambas quando Churchill o pressionou (devido ao desembarque dos americanos) a suspender os fornecimentos a Berlim.»
Apesar da sua (excessiva para muitos) prudência com Hitler, Salazar não tolerava que ele maltratasse certos portugueses.
Foi o caso da infanta Maria Adelaide de Bragança, neta de D. Miguel, a viver exilada na Áustria, que, por fazer parte da resistência activa antinazi, foi presa e condenada à morte pela Gestapo.
Avisado, o presidente do Conselho de imediato intervém «junto dos alemães, invocando que se tratava de uma infanta de Portugal e, portanto, de património nacional, o que é bastante curioso tendo em conta que ela», evoca o seu filho, Francisco Xavier Damiano de Bragança van Uden, «estava interdita de pisar solo português».
Actualmente (na altura em que escrevo, Verão de 2006), Dona Maria Adelaide, de 86 anos, vive na margem sul, junto à Caparica.
Vários outros casos semelhantes foram registados, mas não noticiados por decisão do chefe do Governo. Este tinha como ponto de honra não permitir interferências de estranhos nos assuntos a que superentendia. «Saibam que não tenho medo de morrer de medo», avisava.
Essa ousadia colheu de surpresa, por várias vezes, Churchill, Hitler, Roosevelt, Franco, levando-os a inibirem-se ante a sua determinação.
Cospem no chão
Os soldados ingleses desembarcados durante a guerra nos Açores recebem dos seus comandantes um folheto de instruções onde se previne que «os portugueses cospem frequentemente no chão», que «não gostam de leis ou regulamentos», que «os homens são ciumentos», que «as mulheres livres quase não existem»; e onde se aconselha: «Não se impacientem com os pedintes, verão que é mais fácil dar-lhes alguns centavos do que tentarem ver-se livres deles.»
A arrogância crescente de Londres e Washington deixa Salazar apopléctico: «Tratam-nos sem consideração nenhuma, pior do que aos novos estados negros, e isso não podemos consentir. É uma bofetada que nos dão, uma humilhação. Não somos um protectorado norte-americano, nem inglês, nem de ninguém. Está a chegar o momento em que temos de romper com os EU, espero que seja ainda na minha vida. Churchill sempre sentiu por mim uma grande aversão.»
Discordando da rendição incondicional da Alemanha, exigida pelas grandes potências, o estadista português é dos poucos dirigentes a preconizarem uma paz negociada que evite hegemonias por parte dos Estados Unidos e da URSS.
«Ele tinha medo dos grandes blocos», adverte Franco Nogueira.
Uma carta de Armindo Monteiro, criticando a sua ambiguidade sobre os Açores («os ingleses afirmam que têm encontrado mais facilidades em Madrid do que em Lisboa»), leva-o a anotar, com aceradíssima mordacidade: «O intento do nosso embaixador em Londres é deixar registados os duros esforços que empregou para conduzir ao bom caminho um presidente do Conselho que governava em Portugal e cuja política era quebrar a aliança inglesa, entregar-se nos braços da Alemanha e comprometer a integridade do País.»
As palavras do diplomata são, para ele, «manifestações de snobismo de um grande senhor que vive na Grã-Bretanha, se relaciona com os dirigentes do mundo e fala superiormente a um pobre homem de Santa Comba; um senhor que não faz distinção entre as directrizes políticas gerais e os mil incidentes diários de uma potência a quem mais de um século de absoluta subserviência da parte de Portugal quase deu o direito de se julgar em situação de mandar aqui soberanamente.»
Os Açores impuseram-se, a partir dos anos 40, como um centro vital nas comunicações aéreas civis e militares, como «o ponto isolado mais importante do Ocidente». As rivalidades navais entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, primeiro, os Estados Unidos e a URSS, depois, fizeram deles uma zona charneira.
Roosevelt e Churchill discutiram várias vezes, à revelia de Salazar, o destino a dar aos arquipélagos portugueses.
«O Atlântico tornou-se», afirmava o dirigente britânico, «o único teatro onde a Alemanha pode ganhar a guerra».
Londres preparou planos secretos, sem consultar Portugal, para ocupar os Açores. Um deles, chamado «One» (Janeiro de 1942), previa desembarques no Faial, São Miguel e Terceira. E, se houvesse ataques a Marrocos, em Cabo Verde e na Madeira.
A presença, a partir de 1943, de tropas ianques no Norte de África tornou o nosso arquipélago fundamental para os Estados Unidos, dada a necessidade de abastecimentos das forças colocadas no Sul da América e de África, e de protecção dos comboios nas suas rotas intercontinentais.
Espalhados na zona, os submarinos alemães, com apoios de bases móveis (as «vacas leiteiras»), fazem com que os confrontos sejam trágicos. O mar dos Açores revela-se o «mar da morte».
Durante muito tempo, Salazar escusa-se a negociar directamente com os americanos. É com os ingleses que dialoga, pois é aos ingleses que, na sua óptica, compete dirigir o conflito.
As ilhas fazem-se o grande trunfo internacional do regime. «Portugal, em caso de guerra, corre riscos na Europa, África e Ásia», repete o primeiro-ministro nas reivindicações, nas contrapropostas, nas evasivas, nas cedências, nas intransigências que formula.
Minucioso no pensamento, firme no gesto, o presidente do Conselho move as suas pedras, ora com discrição, ora com ênfase. Tem a volúpia da estratégia, o vagar da paciência.
Joga ao mesmo tempo em vários tabuleiros. Põe os seus diplomatas de confiança a defender uma posição (posição de orgulho, de rigidez, de não cedências), e os seus militares de preferência (Santos Costa, então secretário de Estado da Defesa, e Humberto Delgado, comandante da Força Aérea) a defenderem outra. Com tal empenho que os dois oficiais passam a ser considerados pelos americanos como «os amigos portugueses».
O general Kuter chega a pedir a Santos Costa «o uso ilimitado de Santa Maria em tempo de guerra ou de paz», e «o uso não especificado das ilhas de Cabo Verde» pelos EUA. Quando o sabe, o embaixador Marcello Mathias «fica lívido» e comunica ao Governo que se demite se Portugal «aceitar algo de semelhante».
Fingindo não aceitar, Salazar aceita — e impede Marcello Mathias de se demitir. O apoio dos EUA apresentava-se-lhe, depois do enfraquecimento da Grã-Bretanha, decisivo para manter o regime, conservar o império e impedir o avanço comunista.
Não querendo, porém, ceder-lhes à vista desarmada, enfatiza com eles braços-de-ferro e bluffs empolados. Hábil nos recuos, jamais deixa que as relações se clarifiquem, se definam. Precisa de álibis que lhe salvem a face — perante os outros e perante si mesmo.
Os ingleses, que o entendem, sensibilizam os americanos. Estes fazem chegar pouco depois a Lisboa uma proposta comprometendo-se a libertar, com o apoio de Portugal, Timor, ocupado pelos japoneses — o que exige o seu estabelecimento em Santa Maria.
Isso dá a Salazar a justificação virtual de que necessitava para normalizar a presença ianque no arquipélago. Na manhã de 28 de Novembro de 1944, o acordo é formalizado, sem que ninguém ouse dizer tratar-se de um subterfúgio.
«Não havia qualquer projecto para Timor, isso não fazia sequer parte dos planos norte-americanos do Pacífico», afirma o historiador José Telo. «Invadido no princípio de 1942 pelo japoneses, aquele território só será, na verdade, libertado no fim da guerra.
A primeira presença formal dos norte-americanos nos Açores ocorre durante a Primeira Guerra, a de 1914, quando a República, a pedido da Inglaterra, os autoriza a montar uma base naval em São Miguel. No final do conflito retirarão, só voltando (oficialmente) ao arquipélago em 1944.
Subordinado à Grã-Bretanha, o Governo da época, chefiado por Afonso Costa, deixa que a decisão de os americanos se instalarem em Ponta Delgada pertença não a Lisboa, mas a Londres.
Antes do início do conflito, o responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros, Freire de Andrade, pede a Teixeira Gomes, embaixador naquele país, que solicite a Downing Street directrizes para o seu Governo: «Veja junto do Foreign Office qual a atitude que devemos tomar, pois convém obter declarações que possam guiar o nosso procedimento.»
A fim de evitar situações de semelhante subserviência, Salazar, ao eclodir a Segunda Guerra, antecipa-se e envia em Setembro de 1939, com o apoio de Franco, uma nota a Londres comunicando a posição tomada por si.
«O Governo português entende que a neutralidade da parte de Portugal, especialmente pela repercussão que possa ter em Espanha, é a atitude que mais convém nesta conjuntura», proclama.
Churchill disfarça a desfaçatez do nosso primeiro-ministro e vai aos Comuns fazer o panegírico do tratado de amizade entre os dois países. A partir daí, passa a nutrir por nós a maior das desconfianças.
Churchill, Roosevelt e Hitler parecem encarar Portugal como uma reserva cinzenta, pacífica e passiva, a utilizar em caso de emergência. Subestimam Salazar. Salazar sabe-o.
Germanófilos e anglófonos envolvem-se em guerrilhas de propaganda e insulto. Têm jornais próprios, A Esfera, os primeiros, O Mundo Gráfico, os segundos. A Legião Portuguesa faz incursões públicas, que o presidente do Conselho deprecia, de exaltação nazi.
Irritado com Mussolini
Os apoiantes de Mussolini tentam, por sua vez, afirmar-se — o que desagrada a Salazar. O dirigente italiano (de quem chegou a ter uma foto na mesa de trabalho) tornara-se-lhe há muito uma «decepção». Cedo deixou, com efeito, de o admirar. Se lhe reconheceu capacidade organizativa — o corporativismo é um exemplo —, não lhe apreciou, porém, a aliança com Hitler nem o seu comportamento na guerra.
«Mussolini é», afirma, «um oportunista da acção: ora marcha para a direita, ora marcha para a esquerda; combate hoje a Igreja, mas, pouco depois, é ele próprio quem faz o Tratado de Latrão para mandar encerrar, meses passados, as associações católicas.»
A abertura que sentira por ele havia sido influenciada pelo entusiasmo de António Ferro. «O meu marido, que o entrevistou, gostou muito de Mussolini», justifica-me Fernanda de Castro. «Em casa referia-se-lhe com todo o entusiasmo, achava que tinha reabilitado a honra do povo italiano. Entre os portugueses contava com alguns simpatizantes, embora não houvesse cá nenhum movimento fascista. O Homem Cristo, convidado pessoalmente por ele para o representar aqui, morreu num acidente de moto quando regressava de Roma. Há 50 anos, o meu marido e eu estávamos na Legação de Portugal na Suíça. Recordo-me de que, por um estranho acaso, foi trabalhar para nós um italiano que tinha sido motorista particular de Mussolini. Um dia, ao atravessarmos, em Milão, uma praça, ele parou o carro e, a chorar, apontou para o centro: fora ali que o penduraram, de cabeça para baixo, depois de o fuzilarem.»
Mussolini «não era muito popular em Portugal, a não ser em pequenos grupos como o dos integralistas e o dos seguidores de Rolão Preto», pormenoriza Henrique de Barros. «Antes de se ter passado para a oposição, Rolão Preto chegou a fundar os Camisas Azuis, inspirados nos Camisas Pretas fascistas, mas sem grande repercussão. Nunca se verificou, entre nós, grande entusiasmo pelo regime italiano. Era demasiado reaccionário e autoritário, demasiado de direita. Quando se dá a substituição de Mussolini, toda a gente percebe que se caminha para o princípio do fim do conflito.»
O ritual do poder interpretado pelo Duce «fascinou apenas uma certa juventude. Percebia-se que era teatral, que era postiço», confirma-me Francisco Cazal Ribeiro, deputado da Assembleia Nacional e íntimo de Salazar. «Tratou-se de um movimento puramente italiano. Só por ignorância, ou maldade, pode dizer-se que o Estado Novo o copiara.»
As notícias da imprensa sobre os problemas nacionais são, no final da guerra, paginadas a duas colunas, por blocos discretos, entre funções sociais, artísticas, desportivas, publicitárias.
Algumas deixam, no entanto, pressentir incidentes, greves, paralisações em fábricas do centro e da margem sul do País, cuja responsabilidade é atribuída, pelas autoridades, a «agitadores isolados».
O Partido Comunista avisa que se trata de movimentações populares contra a ditadura, aproveitando os golpes infligidos aos nazi-fascistas, de que a queda de Mussolini era um símbolo.
«Como consequência, a repressão torna-se de novo intensa. Os trabalhadores que se manifestavam eram metidos em massa nas praças de touros e na Mitra», revela Dias Lourenço, membro do PCP. «Vivemos esses acontecimentos intensamente embora não nos surpreendessem. A partir da derrota de Estalinegrado, em Fevereiro, sabíamos que a queda do nazismo era inevitável.»
Quando Hitler se suicida, as bandeiras portuguesas são postas, por decisão de Salazar (contrariando as directrizes dos Aliados), a meia haste, durante três dias. Com isso, ele quis significar que Portugal «não era um pau-mandado», «um joguete dos vencedores».
E quis lembrar o papel do Fúhrer no combate aos comunistas e capitalistas. Os norte-americanos pareciam-lhe (para o futuro das colónias e da Europa) tão ameaçadores como os alemães.
O salto decisivo de Salazar para o «comboio vencedor» é dado através dos Açores. O regime vai poder, graças a eles, envelhecer lentamente.
A Europa reduzira-se a um oceano de escombros tomado pelos liberais, a NATO, a uma excrescência. Na visão que tinha da nova ordem do mundo, o Velho Continente necessitava, para manter a primazia cultural, política e económica, de reforçar-se, de unir-se — precisamente o contrário do que acontecera no pós-guerra.
A amigos íntimos o presidente do Conselho confia a inquietação que o trespassa. Perde a confiança nos ingleses, sob o poder dos trabalhistas, e não suporta, pelo seu sentido imperial, os dirigentes dos EUA.
Dorme mal. Ignorarem-no era pior do que combaterem-no; tolerarem-no era pior do que odiarem-no. Entra em depressão. Sem poder suportar a luz do Sol, fecha-se no quarto. Recusa-se a receber os que o procuram. Desinteressa-se da política, dos amigos. Os dias passam. Os dignitários do regime entram em pânico. Aos que, por intermédio da governanta, conseguem falar-lhe, pede que o substituam.
Indica Pedro Teotónio Pereira, embaixador nos Estados Unidos, para seu sucessor.
Maria de Jesus tem, então, um papel decisivo. Maternal, apazigua-o, recupera-o lentamente. Faz-lhe petiscos, serve-lhe Portos. Afasta inoportunos, neutraliza contactos, desliga telefones, arreda jornais. Ministros, militares, pides, sacerdotes, são mantidos à distância. O pessoal recebe ordens para falar baixo, não falar.
«Foram dias de grande aflição. Eu sabia, porém, que com descanso, com mimos, sem ninguém a preocupá-lo, havia de melhorar. Eu conhecia-o bem. Foram anos terríveis os das guerras, a espanhola, a mundial, mais tarde a das colónias. Aquela alminha de Deus nunca teve sossego! Sempre ralado, sempre aflito, sempre alguém a querer fazer-lhe mal», palavras de Maria de Jesus.
Prudentes, os Aliados impedem a queda de Salazar (e de Franco) após o armistício. Londres manda a Lisboa, com toda a pompa, Sua Majestade a Rainha, em Fevereiro de 1957, prova de veneração pela Aliança («que dura há seis séculos e não tem paralelo na história do mundo», sublinha Churchill nos Comuns), ao mesmo tempo que os jornais escrevem «nunca terem as bandeiras dos dois países sido desfraldadas em campos opostos», salvo em «incidentes de pouca monta».
Isabel II chega de avião um dia mais cedo do que o fixado pelo protocolo, tempo que passa na quinta dos duques de Palmela, em Sesimbra, seus amigos pessoais.
Fundeado na baía, o iate real Britannia transportá-la-á na manhã seguinte até meio do Tejo, onde um deslumbrante bergantim do século XVIII (pertencente ao Museu de Marinha) a deixa no Cais das Colunas ante milhares de pessoas, com a hierarquia máxima do Estado anfitrião à frente.
O príncipe Filipe juntara-se-lhe horas antes, após um cruzeiro de vários meses pelo mundo.
Salazar, que faz questão de acompanhar a monarca à ópera, em São Carlos, faz igualmente questão de lembrar ao Governo de Londres que «na política, entre as nações como entre os homens públicos, é, às vezes, um grande favor estar quieto contanto que se esteja atento. A linha tradicional da nossa política externa, coincidente com os verdadeiros interesses da Pátria, está em não nos envolvermos nas desordens europeias».
Reconhecendo a cooperação recebida, os britânicos doutoram-no honoris causa e convidam-no a visitar oficialmente o país. Salazar recusa.
«Fosse um estadista menos corajoso e menos avisado do que ele quem tivesse estado ao leme, durante 1940 e 1941, e Portugal teria talvez caído na órbita alemã, com resultados que bem poderiam ter influenciado o curso e a duração da guerra», afirma o embaixador Ronald Campbell.
Dos Aliados, a França é o país que mais o sensibiliza. Fala bem a língua, recebe Le Figaro, lê os filósofos e os teóricos gauleses (Maurras influencia-o) e chega a relacionar-se intimamente com uma francesa, a jornalista Christine Garnier.
O termo «aliados» surgiu como designação dos países que se uniram contra a Alemanha nazi. Em número de 27, subscreveram, corria o ano de 1942, a Carta das Nações Unidas, na qual se comprometiam a não fazer paz separada com as potências do Eixo até à sua rendição completa. Três anos mais tarde constituem-se como Nações Unidas.
Em 1955, após ter ingressado na NATO, Portugal entra no grupo e torna-se também Aliado.
Salazar segue as notícias que lhe chegam sobre as explosões de Hiroxima e Nagasáqui pelos jornais estrangeiros. Pouco inclinado para as ciências, tem dificuldade em perceber, em perspectivar, o sucedido. Desconfia mesmo, como grandes vultos da inteligentzia portuguesa (caso de Gago Coutinho), das teorias nucleares de Einstein.
Informado pelos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros de que os Estados Unidos iriam utilizar bombas atómicas, não se impressiona. Não entendia, aliás, as suas características. No pequeno grupo de amigos e conhecidos, também ninguém as entendia. Nem no Governo, nem nas universidades, nem nas academias, nem nas Forças Armadas.
Apenas Ruy Luís Gomes, na oposição, sabia, pelas suas ligações à Sorbonne e a Madame Curie, o que estava em causa.
«Não nos demos conta do extraordinário do sucedido. Eram vulgares as notícias de rebentamentos de bombas cada vez mais poderosas. As hecatombes, os extermínios de populações, tornaram-se moeda corrente: 80 000, 100 000 mortos não eram novidade», recorda-me António Manuel Baptista, catedrático de Física e Engenharia Nuclear, na altura estudante de Engenharia.
Dentro do Exército, dois jovens oficiais, Costa Gomes e Kaulza de Arriaga, apresentam entretanto, como teses de curso do Estado-Maior, trabalhos sobre energia atómica.
Salazar intuiu, por influência de leituras, que a energia nuclear iria ser uma energia importante. «Parece que a natureza nos concedeu um combustível de futuro», disse, ao autorizar, em 1950, pesquisas de urânio em território metropolitano.
Portugal não entra, porém, nem na produção nem na protecção do nuclear. Demasiado caras para as suas possibilidades, uma e outra ficam fora dos objectivos oficiais.
«Nunca houve sequer abrigos atómicos. Uma vez, Santos Costa, que era o ministro do Exército, quis construir um, nas caves do Forte de São Julião da Barra, para as altas figuras do regime. Mas os engenheiros encarregados das obras não foram capazes de impermeabilizar o local. Que foi completamente inundado pelo mar, na maré cheia», relata-me o marechal Costa Gomes.
«O senhor doutor explicou-me: a bomba é uma coisa decisiva, faz desaparecer cidades em segundos», revelar-me-á Maria de Jesus. «O senhor doutor está preocupado, pois os países pequenos como o nosso não podem fazer nada. Só rezar. Só Nossa Senhora de Fátima nos pode valer. Estamos nas mãos de loucos.»
Portugal sofreu radiações atómicas nos finais dos anos 60. A excepção de Salazar e de alguns membros do Governo, ninguém o soube, porém. Nuvens radioactivas, formadas após explosões realizadas pela França, fugiram ao controlo dos técnicos e dirigiram-se para o nosso território.
«A fim de evitar o pânico não divulguei o sucedido, a imprensa não suspeitou de nada. Os serviços franceses mantinham-me informado do evoluir da situação», confirma-me Kaulza de Arriaga. «As nuvens encaminharam-se para os Açores. Fomos para lá. Em duas ilhas choveu. As pastagens foram contaminadas, bem como as vacas que as comeram e o leite que deram. Com a ajuda do presidente da Nestlé, recolhemo-lo e tratámo-lo, baixando o índice de radioactividade (todo o leite tem radioactividade) para os valores normais. As vacas afectadas não foram para consumo. Tudo se resolveu.»
A seguir à Segunda Guerra, Salazar compreende, perante as novas realidades, que precisa de renovar o sistema. Está no máximo do seu prestígio e no máximo do seu tempo. Para continuar soberano, tem de antecipar um novo ciclo — e liderá-lo.
Insinua que vai abandonar o poder. As oposições aproveitam a descompressão (a Censura recebe ordens para abrandar) e revitalizam-se. Comunistas, socialistas, monárquicos, republicanos, democratas, anarquistas, emergem com energia pelo País.
Agitado por um jovem impetuoso, Mário Soares, o MUD sobressai. A direita fica perplexa. Os senhores da situação correm, uma vez mais, assustados, reverentes, para o seu chefe. No Vimieiro, Salazar sorri, esfíngico.
O isco funciona. O regime passa a conhecer os novos inimigos. A polícia actualiza os ficheiros. A repressão dispara: no funcionalismo, no ensino, na justiça, na Igreja, na administração, na imprensa, nas empresas, nas fábricas, nos campos. A esquerda não desmobiliza, porém. Levantamentos, greves, rebeliões, golpes, sucedem-se em cadeia.
Continuando a movimentar-se com astúcia, o presidente do Conselho deixa aflorar, no seu próprio campo, vozes de dissonância. Finge que pretende ouvir críticas. Exorta os ministros a «evoluírem politicamente».
No passado, aglutinara para reinar; no presente, divide para dominar. A oposição (no interior e no exterior) fracciona-se. O País é uma caçarola a chiar em lume invisível.
Ambicioso, inteligente, oportuno, culto, Marcello Caetano autonomiza-se. Salazar, que o conhece bem, tece os fios que irão embaraçar-lhe as asas.
A intriga da política, a manipulação das pessoas, estimulam-no. Tem toda a paciência do mundo. Apaixonado por Bach, rege o império como um maestro sem mãos.
Costa Gomes, que chegara da índia em finais de 1959, enviado pelo Governo como observador, avisa que há concentrações de tropas à volta de Goa, Damão e Diu. E propõe a «realização de um plebiscito na índia, sob a égide das Nações Unidas», a fim de se evitar uma situação humilhante para o regime.
«Se tivermos entre seis a dez por cento dos votos já é bom», previne. «Só um pequeno estrato defende a nossa presença. A língua portuguesa nem sequer figura no ensino primário.»
Quando, em 1953, a União Indiana solicita à ONU a integração da índia Portuguesa e, dois anos depois, 6000 indianos a tentam invadir, os incidentes passam a agudizar-se.
Salazar fica silencioso. Não enceta diálogos, não reforça guarnições. Os ingleses, que contacta ao abrigo dos tratados existentes, esquivam-se. Fazem mesmo saber que não interferirão num conflito entre os dois estados.
Em Lisboa, os jornais enchem páginas com relatos da situação e artigos de opinião. Ao contrário do que sucedia em ocasiões do género, a Censura não causa problemas.
Torna-se visível a preocupação em que se puxe pelo tema. Algo de estranho germina por baixo dessa torrente de emoções.
Nehru, primeiro-ministro da União Indiana, sucessor de Gandhi, é proclamado inimigo público e ridicularizado. Os seus esforços de diálogo, de conversações, não obtêm por parte de Lisboa resposta oficial — apenas chacota pública.
Os ensaios de invasão pacífica repetem-se à medida que as estratégias diplomáticas falham. A crispação de Nehru leva-o a avisar: «Não sou sistematicamente pacifista.»
Enigmático, o presidente do Conselho não só impede o reforço militar de Goa como lhe retira efectivos (de 12 000 passa-os para 2000), recursos, capacidades, esperanças.
«A nossa posição tornou-se meramente simbólica. Não havia defesas. Nem fortificações», diz-me o coronel Santos Costa (não tem nada a ver com o ex-ministro Santos Costa) ali em comissão na altura.
Salazar tece uma complexa urdidura à volta de Nehru. Tenta, não lhe respondendo às propostas de diálogo, enervá-lo; tenta, fomentando artigos na imprensa internacional, desacreditá-lo.
Utiliza com prontidão a imprensa. Cada ameaça, cada incursão indiana, tornam-se pretexto de artigos, reportagens, entrevistas, encómios sobre a política na região do Estado Novo.
Sabe que a opinião pública está do lado das vítimas, não dos algozes, do lado dos perseguidos, não dos perseguidores. Joga fundo no marketing para fazer passar-se por vítima, por perseguido.
Figuras não filiadas na União Nacional são chamadas para o Governo. Vassalo e Silva é nomeado governador da índia. Novos estilos, novas linguagens surgem.
Lisboa informa os seus embaixadores de que devem abrir-se aos jornalistas estrangeiros. Referências elogiosas à política portuguesa saem nos principais matutinos de Paris, Madrid, Londres, Roma, Nova Iorque, Brasil.
Pouco antes da invasão, Franco Nogueira sublinha aos diplomatas a «utilidade de que representantes dos maiores órgãos da imprensa, que ofereçam garantias de imparcialidade, visitem Goa».
Marcello Mathias escreve-lhe de Paris: «Cá ando a tentar mandar jornalistas para Goa.» O mesmo lhe comunica, de Washington, Pedro Teotónio Pereira: «Estou desenvolvendo esforços para conseguir a ida imediata de jornalistas.»
«Tartufo», «pacifista de duas caras», «Átila», são epítetos que passam a designar o primeiro-ministro indiano.
Um plano surge perversamente no espírito de Salazar: o massacre dos portugueses pelos indianos torná-los-á, aos olhos do mundo, heróis e mártires. A opinião pública mudará, então, a seu favor.
Franco Nogueira convence-se de que os militares imolar-se-ão. Diz em Washington: «Eles vão resistir até ao fim. Podem morrer todos, mas, primeiro, cada um matará dez indianos.»
Anos mais tarde confirmar-me-á: «Acreditei de facto nisso. A certa altura, o doutor Salazar perguntou-me: "E se eles se rendem?" Respondi-lhe que não. Enganei-me.»
A roleta do destino aumenta de velocidade. O presidente do Conselho coloca nela todas as fichas. As suas ordens são secas: resistir até ao fim.
«É horrível pensar», escreve, «que a defesa de Goa pode significar o sacrifício total, mas recomendo e espero esse sacrifício como única forma de nos mantermos à altura das nossas tradições e prestarmos o maior serviço ao futuro da Nação. Não prevejo possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos.»
Salazar não confia nos militares. Deprecia, aliás, os seus rituais de mando, de casta. De intromissão na política. Era com «profundo aborrecimento que assistia aos desfiles. Cansava -se muito. Não gostava de fardas nem de armas. Não entendia muito bem as coisas deles, andava, aliás, sempre preocupado, sempre alerta com o que faziam lá nos quartéis», desconfidencia Maria de Jesus.
Vassalo e Silva compreende o objectivo do chefe do Governo. É em si, nas suas mãos, que o destino coloca os botões da morte. O tempo é de vertigem. Nehru não vai recuar. A comunidade internacional não vai interferir. O patriarca das índias, D. José de Alvernaz, aconselha-o a render-se. A optar pela vida.
Vassalo e Silva («o melhor governador, depois dos vice-reis da índia», no dizer de Costa Gomes) decide-se. Manda evacuar as mulheres e as crianças: «É conveniente que a população tenha consciência do perigo que a rodeia», especifica em comunicado. Organiza um esquema de rendição, o Plano Sentinela. Para Lisboa envia notícias de exaltação: «Somos poucos mas resistiremos até ao fim.»
Nehru está constrangido. Salazar obriga-o a usar a força, a trair-se como pacifista. O tempo, a situação interna, as ameaças paquistanesas jogam contra si. Não tem outra saída. A 18 de Dezembro de 1961 dá ordem para as Forças Armadas actuarem. Pede-lhes, no entanto, que evitem violências excessivas. A Aviação, o Exército e a Marinha avançam.
Capitaneado por António da Cunha Aragão, umvelho (único na zona] vaso de guerra, o Afonso de Albuquerque, aponta à esquadra inimiga e enfrenta-a. Três quartos de hora depois afunda-se. Um marinheiro português e 14 indianos morrem.
Pouco depois, empunhando uma bandeira branca, quatro oficiais portugueses tomam lugar num jipe e arrancam. Entre eles vai, por saber falar inglês, o capitão-médico Garcia da Silva. «Os indianos não queriam matar ninguém, a sua intenção era», recorda-me, «obrigar os portugueses à rendição».
Em Lisboa o clima faz-se melodramático. Sem notícias, todos pensam que a tragédia se consumou: «A hora é de guerra. Podemos tombar mas caímos de pé, dando ao mundo uma lição que não será inútil. Corre o sangue generoso dos homens que envergam as nossas fardas», escreve Augusto de Castro no Diário de Notícias.
Na Sé, em vigília ante as relíquias de São Francisco Xavier, o cardeal Cerejeira exclama: «Portugal não morre, mas a perda da índia leva-lhe parte da sua alma e do seu coração.»
As casas de espectáculos fecham. Marchas silenciosas desfilam, com círios acesos, pelas principais cidades. O País ajoelha em oração durante a noite. A rádio fala da «resistência eróica» dos portugueses da índia que «defendem a civilização cristã e ocidental» com a vida.
«Os combatentes de Goa, Damão e Diu estão a escrever o Canto XI de Os Lusíadas», enfatizam estudantes em Coimbra.
Ao saber do fracasso dos seus planos, Salazar adoece gravemente. Perde a voz durante vários dias, devido a uma colecistite aguda, que o obriga a tomar grandes doses de antibióticos. Reage com dificuldade. O discurso que dirige à Assembleia Nacional na sequência da invasão tem de ser lido por outro.
«Foi uma aflição. Nunca mais esquecerei», de novo Maria de Jesus, «essas horas, em São Bento, agarrados ao telefone. Rezei vários terços para que tudo corresse como ele queria. Só um dia depois soubemos da traição. O senhor doutor ficou lívido, não queria acreditar. Tratou-se de um dos maiores desgostos da sua vida. E da minha.»
Salazar quis, com uma política controlada de subsídios, promover elites africanas que pudessem, no futuro, ser defensoras da cultura portuguesa nas suas regiões. Para melhor o conseguir, fundou, em 1946, a Casa dos Estudantes do Império, no Arco do Cego, em Lisboa. Milhares de jovens bolseiros passaram por ela.
Amílcar Cabral (Guiné e Cabo Verde), Agostinho Neto, Mário de Andrade (Angola), Marcelino dos Santos, Aquino de Bragança (Moçambique), Alda Espírito Santo (São Tomé) foram alguns. Conquistados pela nossa maneira de ser, ficou a dever-se-lhes a adopção, depois das independências, do português como idioma oficial-nacional dos PALOp:
«A língua portuguesa é uma das melhores coisas que os tugas nos deixaram. O colonialismo não tem só coisas que não prestam», escreverá Amílcar Cabral.
«Eu fui o colega com quem ele primeiro falou ao chegar ao Instituto de Agronomia, em Outubro de 1945», descrevemos o engenheiro José Sousa Veloso. «Vi-o no átrio, encostado a um muro, um bocado tímido. Fui dar-lhe as boas-vindas e oferecer-lhe os apontamentos das aulas que já haviam começado.
Tornou-se expansivo, muito simpático, muito generoso.»
Foi passeando pelas ruas de Lisboa — Lisboa era nesses anos uma capital sem tempos — que arquitectou muito do que viria a ser a sua doutrina, a sua utopia. «Tudo o que aprendi da luta, aprendi em Portugal», confidenciará.
Deixa-se, sem embaraço, conquistar pelo meio, pelas pessoas, pela música, pelo futebol, pela comida (adora bacalhau cozido e arroz de pato), pelas cores; apaixona-se por uma branca, Maria Helena Ataíde Rodrigues, colega de curso, a quem exalta em versos rimados: «Quero cantar teus modos, teu andar/ E a bela compleição da tua alma/ Num verso, Lena, eu quero retratar/ Teu porte na aflição como na calma»). Casa com ela, ela acompanha-o, até que a política os separa.
Dedica a tese de fim de curso aos camponeses alentejanos («Não devemos confundir o povo português com o colonialismo português», adverte) licenciando-se com altas classificações.
A PIDE vigia-o. É discriminado. A Junta de Colonização Interna não o admite. Trabalha como tarefeiro. Dá aulas esporádicas como assistente de Baeta Neves. Consegue, por fim, entrar para os Serviços Agrícolas do Ministério do Ultramar e ser colocado em Bissau.
«Foi lá que o conheci. Na altura em que esteve em Agronomia, eu encontrava-me afastado do ensino», lembra-me Henrique de Barros. «Tinha ido à Guiné estudar, com um engenheiro francês, a viabilidade da instalação da indústria açucareira na zona. As autoridades encarregaram-no de nos acompanhar pelo território. Convivemos então. Ele tinha um conhecimento profundíssimo da zona e das pessoas, havia feito para a FAO um levantamento exaustivo da região. Nas nossas relações era reservado, discreto, não falava de política.»
Em Angola, onde se desloca, Amílcar Cabral ajuda a fundar o que virá a ser o MPLA. Decidida a luta armada contra os colonialistas, passa a viajar incessantemente a fim de sensibilizar a opinião pública mundial. Que o apoia sem reservas. Paulo VI recebe-o no Vaticano, juntamente com Agostinho Neto e Marcelino dos Santos - já Salazar havia falecido. Será o primeiro representante de um povo em luta pela independência a usar da palavra nas Nações Unidas
A convite de Seku Touré, Presidente da Guiné, instala a sede do PAIGC em Conacri.
Lisboa ficou-lhe para sempre na saudade. Sobretudo a Ajuda: «Adeus, Tapada/ Do ambiente discreto do teu miradouro/ Contempla a nossa partida/ Ouve a voz, o grito, o coro/ Que te diz adeus./ As folhas caídas do teu arvoredo/ São lágrimas vivas que o vento dispersa/ Adeus, Tapada», verseja.
Solidariza-se com os intelectuais portugueses que lutam contra a ditadura, o colonialismo, a Censura, a polícia. Luta tornada comum. «Nós contamos às mulheres da nossa terra a história da padeira de Aljubarrota, apontamos como exemplo ao nosso povo a luta do povo português pela sua independência e pela sua liberdade em 1383, 1640, e em 5 de Outubro de 1910», conta.
Recita de memória passagens inteiras de Os Lusíadas.
Não deixa que o racismo português, de que é frequentemente vítima, o radicalize.
De férias na Praia, em 1949, escreve num jornal da ilha: «Não será utopia que todos lutem pelo bem de Cabo Verde, pelo bom nome e pela glória de Portugal.»
Dois anos depois cria, em Lisboa, o Centro de Estudos Africanos, a que se seguiu o Movimento Anticolonialista. Não sente pressa, mas sente apreensão. Os seus nervos estão crispados. Pressões múltiplas envolvem-nos, ambições várias agitam-nos.
Salazar fica surpreso quando lhe dizem que Amílcar Cabral «fazia política como fazia agricultura» — arroteava o terreno, deitava os fertilizantes, regava, mondava, vigiava. O seu sucesso devia-se a isso. E o seu fracasso.
«Se ele não tivesse sido assassinado nessa altura tê-lo-ia sido noutra. Os interesses surgidos não permitiam que ele sobrevivesse», adverte-me o irmão, Luís Cabral, primeiro Presidente da República da Guiné-Bissau.
Para a oposição, Portugal era, nos fins da década de 50, um país de cinzas quentes: as da campanha perdida por Delgado, as da índia anexada por Nehru, as da Guerra Colonial em germinação.
Humberto Delgado, Manuel Serra, Varela Gomes, Eugénia Varela Gomes, Fernando Piteira Santos, Pedroso Marques, Gualter Basílio, Edmundo Pedro, Adolfo Ayala, Lígia Monteiro, ousam atacar o regime por dentro de uma das suas institui-ções-charneira — o Exército.
«O quartel de Beja estava numa zona importante dado o domínio que ali tinha a esquerda através do Partido Comunista Português e do operariado da margem sul. Tornava-se necessário fazer qualquer coisa, criar focos de agitação, manchas de óleo que pudessem espalhar-se pelo País», evoca-me a psiquiatra Lígia Monteiro. «Formámos, então, um núcleo com ligações a outros. Somos informados de que os militares de Beja, descontentes, aderem à sublevação. Decidimos avançar. Disfarçado, Humberto Delgado chega de Espanha, com a secretária.»
Na noite de 31 de Dezembro, dois automóveis com elementos do Exército entram no quartel de infantaria da cidade e dominam o oficial de dia. Os civis que os acompanham precipitam-se, escalando, contra o que estava programado, os muros. Inadvertidamente a pistola de um deles dispara. Os elementos da guarnição ficam de sobreaviso.
Varela Gomes, um dos revoltosos, vê-se atingido pelo fogo do oficial de dia. Cai gravemente ferido. Os assaltantes (dois são mortos) perdem o controlo da situação. Estabelece-se tiroteio. O golpe entra em derrapagem. Às quatro da manhã está tudo terminado.
Ao chegar ao local, ido de Lisboa, o subsecretário de Estado do Exército, tenente-coronel Jaime Filipe da Fonseca, é morto por engano pelas forças da ordem, que o não reconhecem a tempo.
Notícias excitadas da imprensa, comunicados solenes das Forças Armadas, editoriais inflamados dos diários, percorrem na manhã seguinte o País.
O inesperado dos acontecimentos altera a rotina da época e indigna os comentadores de serviço.
A mágoa pela perda da índia torna-se, por alguns dias, esquecida. Uma manifestação de apoio a Salazar é adiada.
Escondido com a secretária numa casa da região (em Vila de Frades, a 12 quilómetros), Humberto Delgado inicia a fuga, em fantástica subida, aos ziguezagues, pelo País, guiado por Adolfo Ayala, que, através de estratagemas sucessivos, passa todas as barragens, todos os stops, todas as vigilâncias montadas pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, PIDE.
«Esbarrámos numa série delas, mas safámo-nos sempre», descreve-me. «A secretária de Delgado, que era muito bonita, teve então um papel importante. Num posto, pediram a identificação ao condutor, que se esquecera dos papéis. Lembrei-me de pedir à polícia um talão para pagarmos a multa. Passaram-no. Esse papel acabou por ser uma espécie de salvo-conduto nas barragens seguintes. Já no Norte, o general quis parar numa tasca para tomar café. Não deixei. Dezassete horas depois chegávamos ao Porto. O importante era estar longe do Alentejo. No caminho disse para o general: "Que tristeza, mais um falhanço!" Ele animava-nos: "Perdeu-se esta, faz-se outra".»
Ayala e o condutor voltam para trás. Humberto Delgado e Arajaryr de Campos passam para Espanha. A polícia nunca referiu, talvez para não mostrar a sua incapacidade, a presença dele no nosso território.
Em Tavira, a GNR imobiliza, num carro carregado de armas, cinco revoltosos. Entre eles estão Edmundo Pedro e Manuel Serra; em Setúbal, detém Gualter Basílio.
«Eu tinha muito medo», confessa Lígia Monteiro. «Fiz muitas coisas com medo. Recordo-me de uma vez ir buscar granadas ao Terreiro do Paço. Como tinha pouco dinheiro, meti-me num autocarro com elas. Sentia um pavor terrível. Haviam-me garantido que não rebentavam, mas eu não estava certa disso. O meu pânico era por causa dos passageiros que seguiam comigo. A ideia de ser torturada aterrorizava-me frequentemente, não sabia como reagiria. O estar fechada numa cela aterrorizava-me também. Sentia uma sensação terrível, um vazio total. Não sabia o que fazer. Lembro-me de entrar numa livraria, três dias depois do assalto, e ouvir alguém dizer uma coisa muito estranha: isto vai dar pena de morte. O meu marido, que era formado em Direito, sossegou-me: de forma nenhuma, não há pena de morte e as leis não são retroactivas. Mudámos de casa. Sabíamos que ou nos deixávamos prender ou nos refugiávamos numa embaixada. Fomos para a do Brasil.»
O embaixador Negrão de Lima dá protecção aos que não se exilaram nem passaram à clandestinidade. Estiveram ali dois anos e sete meses. Por falta de provas e por habilidade da defesa (o advogado era Mário Soares) foram absolvidos.
Salazar não chegou a impressionar-se com o sucedido. A revolta tinha de falhar. As circunstâncias poderiam parecer-lhe favoráveis, mas o clima do País, não.
«Fomos apagados. É frequente as revoluções apagarem os que as antecipam. Eu própria esqueço-me de ter participado no movimento de Beja.»
Apesar de silenciada pela Censura, a questão do Ultramar divide rapidamente, profundamente, os portugueses. Os que se encontram exilados tomam posições de assinalável impacto público. Argel, Paris, Brasil, URSS, são os sítios onde se concentram, formando núcleos de crescente actividade.
A estratégia de Salazar e Franco Nogueira assentava no pressuposto de que um terceiro conflito mundial, inevitável e irreversível, iria eclodir nos anos 60.
Só restava por isso a Portugal, e na senda do que fizera durante a Segunda Guerra, resistir para poder chegar, com o seu império, à nova ordem saída da futura hecatombe. Os ventos mudariam, então, a nosso favor — pensavam.
«Toda a organização militar portuguesa estava a ser preparada para uma terceira guerra. Havia planos para criar», pormenoriza-me o marechal Costa Gomes, «uma divisão especial em Angola e Moçambique, de pretos e brancos, destinada a actuar na Europa. As pessoas acreditavam na inevitabilidade do conflito, mas eu não. E por uma razão: é que já existia a bomba atómica. Ou seja, não havia hipótese de alguém sair vencedor. A reconversão das nossas Forças Armadas às exigências da guerrilha africana foi iniciada por mim. A nossa preocupação não era matar as populações, mas recuperá-las. Eu fui o comandante que mais pessoas recuperou.»
A reacção das autoridades portuguesas aos acontecimentos surgidos em África no início da década de 60 é, numa primeira fase, descontrolada. A PIDE e o Exército têm dificuldade em dominá-los. As manifestações de revolta que então explodem, com incidência na Guiné e no Norte de Angola (a 4 de Fevereiro de 1961), apanham-nos de surpresa.
Salazar, que sabe do sucedido nessa noite por um telefonema, recebe na manhã seguinte os ministros do Ultramar e da Defesa. Ouve-os com impaciência.
Os dirigentes das Forças Armadas minimizam o sucedido reduzindo-o a simples escaramuças da UPA. Enfático, Sá Viana Rebelo faz uma conferência em Lisboa, garantindo que «nunca haverá guerra em Angola».
Quando percebe que os revoltosos contam com apoios concretos — em dinheiro, em armas, em estratégias, em deslocações —, Salazar começa a reorganizar-se.
Remodela o Governo. Chama para as pastas do Ultramar e dos Estrangeiros dois jovens distanciados de si: Adriano Moreira e Franco Nogueira
«Depois de me ter convencido», conta-me este último, «a aceitar ser ministro, virou-se para mim e perguntou: "Já não vai voltar atrás, pois não?" Respondi-lhe que não. Ele sorriu e, fitando-me, desabafou: "Então comece já a trabalhar porque eu não sei se consigo aguentar a situação mais de seis meses." Estava-se no início da Guerra Colonial.»
Adriano Moreira pretende dignificar a realidade africana, que ama; Franco Nogueira tenta inflectir a realidade internacional, que não comunga. O primeiro é dispensado pouco depois, o segundo faz-se rosto do regime.
Baseando-se no apoio americano (os Estados Unidos pretendem que Portugal aceite, no prazo de 12 anos, um referendo sobre as colónias), a cúpula militar portuguesa de então dirige-se a 11 de Abril, à meia-noite, a Belém. Pede ao Presidente da República que substitua o chefe do Governo e o faça embarcar num avião da Força Aérea, já preparado, para a Suíça. Américo Thomaz finge aceitar.
Botelho Moniz, ministro da Defesa, pressiona, entretanto, Salazar, em nome das Forças Armadas, a alterar a política em curso e a adoptar medidas diferentes.
«Que género de medidas?» O general especifica: «A supressão da Censura, por exemplo.» «Não, isso não é possível», responde. De qualquer modo parecia-lhe interessante continuar o diálogo — no dia seguinte.
No dia seguinte, Botelho Moniz chega e Salazar dispara-lhe: «O senhor enganou-me. As Forças Armadas apoiam inteiramente a minha política.» «Tem alguma prova?», inquiriu o visitante. «Disseram-mo pelo telefone os principais comandantes das regiões com quem falei a noite passada.»
Faz uma pausa e acrescenta: «Mas isso deixou de ter qualquer importância, o senhor já foi substituído. Faça o favor de sair e fechar a porta.»
Botelho Moniz levanta-se, sai e fecha a porta.
No controlo da situação mostrar-se-ia decisivo o comportamento de Kaulza de Arriaga, secretário de Estado da Aeronáutica (fundou a Força Aérea e os Pára-Quedistas), que em poucas horas alterou o tecido militar, mobilizando-o no reforço da defesa do regime.
«Para Angola e em força», proclama Salazar, dois dias depois, aos microfones da Emissora Nacional, dirigindo-se à Nação e à História. E à catástrofe.
«Se as grandes potências se convencerem», confidenciará, «de que os portugueses são os únicos que, pela sua maneira de ser, cultura e língua, podem manter-se em África, será possível ultrapassar esta fase de dificuldades. As independências irão dar-se mas muito lentamente. A Europa levou séculos para se tornar o que é hoje. A África vai levar também muito tempo, talvez uns 300 anos. Os povos primitivos não podem passar repentinamente de um estado a outro. Eu devia ter ido à África quando era estudante, e os estudantes a visitavam, no fim do curso. Então poderia andar à vontade. Agora, na minha posição, não vale a pena. Se fosse, apenas me mostravam não a realidade, mas o que queriam.»
O ciclo dos desvios de barcos e aviões é aberto por revolucionários portugueses, pioneiros mundiais neles. Capitaneando um grupo de operacionais, Henrique Galvão toma de assalto o paquete Santa Maria, em pleno oceano. O acontecimento ocupa, durante vários dias, as primeiras páginas dos grandes jornais.
A hipótese de o barco se dirigir para a África («o nosso objectivo inicial era atacar Luanda com apoio de rebeldes locais», confirma Galvão) levara àquela cidade dezenas de repórteres.
O golpe torna-se, de imediato, notícia internacional. Sob esse aspecto, os rebeldes averbam uma vitória. Um dos seus dirigentes, o cónego Manuel Neves, havia dito a Joaquim Pinto de Andrade: «É preciso organizar um acto espectacular. Para isso bastam armas brancas e jornalistas estrangeiros.»
A 10 de Novembro, seis pessoas (entre as quais uma mulher, Lena Vidal), chefiadas por Hermínio da Palma Inácio, tomam o TAP Casablanca-Lisboa. Quando o aparelho entra em território português, lançam milhares de manifestos contra a política governamental, após o que voam para Marrocos, onde ficam exilados.
Os árabes, que não hesitam em acolhê-los, passam a ser considerados por Salazar «iguais aos pretos», gente apenas merecedora de caridade e, se possível, de civilização.
Quando reconheceram os movimentos africanos de libertação, o presidente do Conselho, apontando o dedo a um amigo, comentou: «Eu não dizia? Não se pode ter confiança em tais criaturas!»
O rei de Marrocos mandará, entretanto, um embaixador dizer-lhe que o seu país não acolherá mais exilados políticos nem guerrilheiros. O que cumpriu.
O estado de saúde de Salazar ressente-se uma vez mais Quase que não come nem dorme. «Ouvia-o passear durante horas», desabafa-me Maria de Jesus. «Quando isso sucedia era sinal de que coisas muito graves se passavam. Punha-me então a rezar por ele e pela paz. O que eu mais temia era que ele se afligisse e adoecesse, e que rebentasse uma revolução. Fazia-lhe chá e levava-lho. Normalmente tomava-o com gosto. Era o que valia.»
O papel do grande ditador português do século XX não estava reservado para Salazar, mas para Sidónio, comenta-me Agostinho da Silva. «O acaso, se é que há acasos na vida, não o quis, porém. Tivesse surgido uns anos mais tarde e ficaríamos tão bem servidos com ele como os italianos com o Mussolini!»
Os afloramentos do Estado Novo (de um estado novo) começaram, na verdade, a emergir muito antes do golpe que o instituiu. O estilo, a respiração (Gomes da Costa e Oliveira Salazar apenas lhe deram o nome e o rosto], existiam já. O sidonismo foi-lhe uma antecipação — romântica, empolgante, devastadora.
Em Coimbra, Salazar, que fora sondado para ser ministro do avassalador governante, o que recusou, observava as suas movimentações sem grandes arroubos.
A manhã de 5 de Dezembro de 1919 nasce com sol e música nas ruas de Lisboa. Sidónio Pais, um discreto major do Exército, sai de casa, toma um eléctrico nos Restauradores e desce no Conde Redondo. Sobe a um terceiro andar onde, num quarto alugado, vários amigos o esperam. Em silêncio, troca o fato escuro que enverga pelo uniforme da Cavalaria.
Horas depois dirige-se, à frente de alunos da Escola de Guerra, fardados com garbo, para o Parque Eduardo VII. Vindos de outros lados, outros militares juntam-se-lhes. No alto da colina, levantam tendas, montam peças, alinham canhões, dispõem sentinelas. É uma revolução mais que borbulha a face da capital — nessa época pródiga delas.
Rapidamente a notícia atravessa a cidade, detém-se nas redacções dos jornais, na curiosidade dos cafés, na apreensão dos governantes. Civis mais afoitos e disponíveis acercam-se do local.
As autoridades mandam sair tropas e ancorar, virados para os revoltosos, dois vasos de guerra. A refrega começa. A população com recursos corre, rápida, às mercearias a abastecer-se. A outra, a marginalizada, posta-se à espera.
As revoluções eram para esta uma bênção. A confusão permitia-lhe, com efeito, assaltar casas, pilhar lojas, sovar (vingando-se deles) polícias, patrões, mandões. Um submundo gorduroso, esfaimado, emergia ao seu deflagrar pelas zonas abastadas de Lisboa. Durante dias, tirava a barriga de misérias e o corpo de andrajos.
Em Belém, o Presidente da República, Bernardino Machado, tenta, por telefone, obter informações através de amigos residentes na zona do Parque.
Literatos saem da Brasileira do Chiado e vão, de eléctrico (o transporte na moda), ver a revolta. Como iam ao teatro ver as cómicas.
Em sentido contrário, cadetes deslocam-se, interrompendo a rebeldia, a casa para almoçar. Outros para ir ao barbeiro.
Depois voltam. Sidónio, até aí um pacato professor de Coimbra e um reticente ministro em Berlim (abandonou o posto quando Portugal declarou guerra à Alemanha), deixa-os ir. Muito novos, muito generosos, comove-se com a sua entusiástica dedicação.
Militares enviados contra si passam-se, entretanto, para si. O seu nome, a sua imagem, começam, de súbito, a dilatar-se pelo País.
A pontaria dos artilheiros sublevados revela-se notável. Atingidos, os vasos postos no Tejo debandam; rechaçadas, as forças subidas ao Rato para o assalto ao Parque, destroçam. O sangue tinge a água do chafariz e corre pelas valetas do largo.
Bernardino Machado manda dizer a Sidónio que não havia motivo para se desgostar, que tinha razão, que, se era por causa do Governo que se rebelara, demitiria o Governo.
O Governo foi demitido. O primeiro-ministro Afonso Costa viu-se, ao regressar de uma viagem, detido no Porto. Membros do Executivo e do Parlamento pediram asilo em barcos estrangeiros.
Quatro dias depois, a 8 de Dezembro, a vitória pertence aos revoltosos. Uma delegação vai a Belém para tirar o poder ao Chefe do Estado. Este finge, porém, que não percebe a situação e tenta ganhar tempo. Adula os jovens, oferece-lhes bebidas, charutos e cadeiras para descansarem. «Devem sentir-se exaustos após as suas façanhas», diz-lhes.
Fala-lhes ao sentimento: «Porque não acabamos de vez com estas lutas entre irmãos? Os senhores são novos, bateram-se como valentes, o Sidónio é inteligentíssimo, foi meu discípulo, digam-lhe que eu não me esqueço disso, que confie em mim a resolução final deste mal-entendido. Não acham que tenho razão?»
A reacção do velho Presidente torna-se desconcertante. Os negociadores retiram-se sem resposta.
Estupefacto, Sidónio pede a Fidelino de Figueiredo que redija uma carta destituindo o Chefe do Estado. Fidelino de Figueiredo redige-a, missiva amável em que lhe é comunicado que tem de resignar.
Às quatro da manhã, a mensagem chega às suas mãos. O edifício é cercado pela infantaria. Os telefones são desligados. Horas depois, já dia claro, um automóvel conduz Bernardino Machado ao apeadeiro do Campo Pequeno. Aí toma o comboio, acompanhado por duas filhas, para o exílio, em Paris. Vai vestido de preto, fato, casaca, bengala, laço, chapéu de coco. Não olha para trás.
Na sua tenda, Sidónio desenvolve um trabalho notável de auto-encenação. Homem de rituais e transcendências, vai, a partir de si, construir uma personagem para si — e para a História.
Palmas e suspiros
Sidónio Pais senta-se no cadeirão da presidência e faz-se fotografar fardado de gala. Troca o Palace dos Restauradores, onde se hospedava, pelo Palácio de Belém, onde passa a viver. O seu gabinete é instalado no espaço que serviu de escritório a D. Carlos.
Rapidamente impõe um regime presidencialista (o Presidente é o chefe do Governo, os ministros são secretários de Estado), semelhante ao norte-americano. É a República Nova.
Prepara eleições para a chefia do Estado e para o Parlamento. Botelho Moniz e Brito Camacho são alguns dos que o apoiam.
A família desce de Coimbra, onde residia, e instala-se na capital, numa casa cedida pela condessa de Ficalho (por uma renda simbólica), sua admiradora.
Teixeira Gomes, ministro em Londres, que o critica, é preso. Marinheiros revoltam-se em Lisboa, opositores rebelam-se no Porto. De Janeiro a Maio «a personalização do regime torna-se desenfreada». Os primeiros tempos são ocupados em viagens oficiais pelo País.
O povo idolatra o novo líder. O seu mito emerge. Uma atmosfera messiânica envolve Sidónio Pais — que acredita nela. Convence-se de que é um eleito, um predestinado, um salvador.
A galope, avança entre palmas e suspiros. É a fase heróica, a mais empolgante e eufórica do seu consulado. Os jornais católicos chamam-lhe «Libertador» e «Desejado». Sacralizam-no. Não resiste às ovações, aos delírios que o cercam. «Por toda a parte em que tenho passado o povo tem vibrado unissonamente», afirma.
Quase não consegue tempo para dormir: «Raras noites se meteu na cama. Se ia ao teatro, logo voltava para trabalhar até altas horas, com a capa militar pelos ombros e um cobertor nos joelhos», pormenoriza Vital Fontes, chefe do pessoal da presidência. «Não havia domingo em que não tivesse que inaugurar uma obra, que visitar um hospital, que assistir a uma festa de crianças.»
Ante a epidemia da pneumónica, não toma precauções e adoece. Os médicos receiam-no atingido. Só ao cabo de dez dias de vigilância o declaram fora de perigo.
Furioso com os açambarcadores de alimentos, manda fechar e multar mais de 200 mercearias. Ele próprio vai à Alfândega buscar arroz, açúcar e outros géneros que, por questões burocráticas, ali apodreciam.
Para conter os agiotas, abre na Caixa Geral de Depósitos, a taxas simbólicas, um serviço de empréstimos sobre valores. A Sopa dos Pobres (a célebre Sopa do Sidónio), que cria, atende mais de 15 000 pessoas por dia.
Nos teatros, comporta-se teatralmente: avança até à frente do camarote e, de pé, tira a capa com gestos pomposos, que estende aos ajudantes. A seguir senta-se, direito e grave. Apaixonado pelo palco, pensa organizar companhias especiais para oferecerem espectáculos gratuitos ao povo.
Fuma quatro maços de cigarros Baunilha por dia. E bebe dois litros de leite — para desintoxicar. Levanta-se às oito da manhã, recebe o barbeiro no quarto, toma o café de pé, na sala, trabalha, dá audiências, almoça (comida pesada), sai de tarde, recolhe tarde. A luz do seu gabinete, onde ninguém tem autorização para entrar, fica acesa pela madrugada fora.
Algumas senhoras acompanham-no, por vezes, com elegância e provocação. Sidónio gosta dos protocolos, das etiquetas, das vénias, das disciplinas.
O seu estado de graça começa, porém, a desvanecer-se. Os partidos opõem-se-lhe, os grandes vultos da política e da intelectualidade distanciam-se-lhe. Ataques irrompem nos jornais, manifestações nas ruas, greves nas fábricas.
Repõe a Censura Prévia, que abolira. Apreende e encerra jornais por todo o lado.
Sidónio «debateu-se com uma conflitualidade interna: um combate entre as suas convicções, por um lado, e ambição desmedida que punha nos actos políticos, por outro», comenta o historiador Álvaro Garrido, que o descreve como «um herói simultaneamente agressivo e complacente, guerreiro e misericordioso, resultando da síntese dos contrários uma harmonia perfeita».
Contundente, A Voz Pública, de Évora, traça a síntese do regime: «O presidentismo arrasta a vida precária e hesitante que é característica de todas as instituições que, nascidas da violência, vegetam no arbítrio. O presidentismo vive dia a dia, quase hora a hora, atormentadamente, sem ciência nem consciência, arquitectando um expediente para cada nova dificuldade e criando uma nova dificuldade em cada expediente de que lança mão.»
A miséria agrava-se com a escassez de produtos agrícolas. As ilusões que provoca não encontram resposta. As dificuldades dilatam-se. Sidónio exalta-se: confisca bens, prende opositores, persegue críticos. Tem comportamentos de déspota. Vê inimigos em todo o lado. Alguns chamam-lhe «Czar Português». Sentindo o chão a fugir-lhe, acelera o andamento. A vertigem, o desmesurado, tomam-no. Não sabe, não pode parar.
Para alguns — caso de Joaquim Madureira —, Sidónio lançou «as sementes precursoras do Fascio que Mussolini, anos depois, fez germinar, florir e frutificar». Será, acrescenta Teófilo Duarte, «o antecessor de todos os governos de autoridade que, anos depois, proliferam pela Europa inteira». Mais radical, Castro Sidónio afirmará: «Ele ficou a um passo de ser o primeiro ditador reaccionário da Europa.»
Armando Malheiro da Silva, historiador, discorda, no entanto, dessas visões. «Sidónio não foi um pró-fascista, foi, sim, um presidencialista clássico», sublinha-me. «Não foi um germanófilo como alguns o acusam. Receava até que a Alemanha ganhasse a guerra.»
Egas Moniz, ministro dos Negócios Estrangeiros do último Governo de Sidónio (Prémio Nobel de Medicina, mais tarde), anotará: «Era um homem cheio de virtudes e extraordinárias qualidades que um desvario sebástico perdeu». «Julgava-se imprescindível, eivou-se mesmo daquele messianismo de que têm enfermado muitos dos homens públicos portugueses.»
O regime dilata a sua dimensão patriótica, regeneradora. Sidónio crê-se um excepcional. A ficção, que domina o seu mundo interior, não lhe permite recuos.
Como D. Sebastião, que mergulha nas adagas dos sarracenos, Sidónio imerge nas águas do delírio. «Quem me dera que me matassem», cicia.
Só a morte o sagrará herói, compreende. Dará intem-poralidade ao seu mito, ao seu fulgor. Os espíritas, que o procuram obsessivamente, sinalizam-lhe rupturas. Fernando Pessoa traça-lhe um horóscopo. Vê a sua excepcionalidade — e a sua precariedade. Não será o Encoberto, mas o anúncio do Encoberto.
Num poema que lhe dedica, escreve: «Quem ele foi sabe-o a Sorte / Sabe-o o Mistério e a sua lei. / A vida fê-lo herói e a Morte / O sagrou rei.»
Amigos e apoiantes afastam-se, em número crescente. O Presidente isola-se cada vez mais. Apenas os contactos com o povo o preenchem. Sobe o Chiado a cavalo, ao fim da tarde, entre cadetes e espadas faiscantes. As mulheres e os adolescentes detêm-se, fascinados, nos passeios. Algumas desfalecem.
A parte feminina de Sidónio torna-se asa de seduções. O corpo e, sobretudo, o olhar, dão-lhe a energia, a perturbação, o mistério, o carisma, que o fazem impor-se aos outros. Atrai mulheres e homens de todas as idades e condições — daí o ardor com que os jovens o seguem, a ênfase com que os pobres, os solitários, os humilhados, o veneram. Sidónio tocou, com a sua comunicabilidade, zonas muito profundas do imaginário português.
"O valor de Sidónio — o subconsciente da Nação imediatamente o sentiu — era um valor simbólico, a sombra à distância de qualquer coisa por vir», anotará Fernando Pessoa, que lhe chama Presidente-Rei. «Dos falsos Encobertos, Sidónio foi, sem dúvida, o que ergueu em torno de si maior auréola mística», acrescenta.
Ganha contornos esotéricos incomuns. O seu culto afirma-se, intemporaliza-se. O túmulo onde repousa, no Panteão Nacional, continua a receber flores e preces que se prolongam pelas gerações e pelos subterrâneos do inexplicável.
«Sidónio transitou da História para o Mito, ergueu-se a proporções póstumas de símbolo nacional e místico, até cabalístico», sublinha João Medina.
Transfere a presidência para o Palácio da Pena, em Sintra. «Abriu os salões, recebeu, deu festas, dançava-se, namorava-se como no tempo dos reis», evoca Maria da Graça Athayde. A escritora assistiu aos funerais de Sidónio, a 21 de Dezembro: «Vi desfilar, durante mais de duas horas, todo os que o acompanharam. Ao passarem na Rua Augusta, dispararam tiros do alto de um telhado. A polícia rodeou a casa e prendeu sete homens. O povo fugiu apavorado, atropelando-se. Ficaram perto de 70 pessoas feridas, muito menos pelos tiros do que pelo atropelamento.»
Rumores de rebeliões no Sul do País levam-no a trocar Sintra por Cascais, instalando-se na Cidadela. Poucos dias depois, porém, regressa a Lisboa. A instabilidade adensa-se por todo o lado.
As revoltas não param: nas Forças Armadas e na administração pública, em Coimbra, em Braga, em Santarém, em Lisboa, em Évora
Os jornais impacientam-no: quanto mais os multa, encerra, censura, manipula, mais eles o crispam. Os adversários desesperam-no: quanto mais os persegue, prende, desterra, exila, mais eles o ferem.
«Os idólatras do sidonismo são uma reduzida hoste de arribadiços cujo número cabe à vontade dentro de três algarismos», escreve o República.
Tudo se lhe apresenta impreciso, enevoado. Deixa de traçar planos para o futuro. O imediato avassala-o. Uma nova Constituição, a formalizar o presidencialismo, é a sua última esperança. Outubro entra chuvoso e frio. A assinatura do Armistício, a 11 de Novembro, permite a Sidónio recuperar movimentações galvanizadoras de patriotismos e nacionalismos: «Podemos, agora, voltar a ressurgir», escrevem gazetas afectas ao Presidente. Os combatentes (na Flandres) são heroicizados. O aniversário da revolta de Dezembro possibilitar-lhe-á, pensa, relançar os seus ideais. Aprofundar a sua mística.
O ano em curso ficaria marcado por acontecimentos angulares na nossa História. As tropas portuguesas que participam na Primeira Guerra Mundial são massacradas pelos alemães, a 9 de Abril, em La Lys, na França. Em três horas de luta sofrem mais de 7000 baixas. O Armistício, leva Jorge V de Inglaterra a enviar um telegrama a Sidónio: «Possa a nova era apertar mais os antigos laços que unem o povo do meu império ao de Portugal», afirma.
O soldado Aníbal Milhais, de Valongo (que passou a chamar-se, em sua honra, Valongo de Milhais), enfrenta sozinho, com uma velha metralhadora, a investida alemã. Durante seis dias dispara, correndo de um lado para o outro, sem cessar. O inimigo julga que o fogo vem de um batalhão e não avança. Isso dá tempo a que os portugueses retirem. O seu acto heróico (divulgado por um major irlandês, a quem salvou a vida) celebrizou-o.
Ao conhecê-lo, o major Ferreira do Amaral, seu comandante, exclama: «Tu és Milhares mas vales Milhões.» Passa à História como o Soldado Milhões.
A fim de proteger o navio São Miguel, atacado por um submarino germânico quando, cheio de passageiros, navegava do Funchal para Ponta Delgada, o caça-minas Augusto de Castilho (um antigo vapor de pesca), comandado pelo capitão-tenente Carvalho Araújo, enfrenta o agressor e afunda-se. «Hei-de morrer como um português», foram as suas últimas palavras. Doze sobreviventes andam seis dias a remar, até chegarem a Santa Maria, sem agulha, sem carta, sem alimentos, num bote com um rombo tapado por um capote e uma bota.
No dia em que se assinalava o aniversário do golpe que comandou, a 5 de Dezembro, Sidónio sofre a primeira tentativa de assassínio: ao regressar da barragem do Bom Sucesso, três tiros de revólver, que o não atingem, são disparados contra si pelo aluno de pilotagem Júlio Baptista.
A Maçonaria, a que pertencia o pai do atirador (Sidónio também era maçon), é assaltada, dias depois, pela multidão em fúria. A sede do Grande Oriente Lusitano, no Bairro Alto, fica parcialmente danificada.
Com o objectivo de apaziguar dissidências militares de cariz monárquico, no Norte, Sidónio dirige-se, a 14 de Dezembro, para a estação do Rossio, ante ovações da multidão («que exagero!, nem que eu fosse o czar da Rússia!», ironiza o Chefe do Estado) que enche o recinto. Ao entrar na gare, é quase meia-noite, José Júlio da Costa fura o aparatoso cordão de segurança e descarrega sobre o Presidente dois tiros de uma pistola FN Browning.
«Quando fui matar o Sidónio ia naturalmente disposto a morrer também», confessou José Júlio da Costa a um amigo, o anarquista Manuel Ribeiro. «O meu gesto não foi um ataque traiçoeiro — avancei sempre de frente — não matei numa cilada, numa emboscada. Não atirei de longe uma bomba ou um tiro dentro da multidão. Quando, na estação do Rossio, o déspota marchava para a gare entre alas de polícias armados, afastei de repelão os guardas e tive Sidónio seguro na boca da minha pistola, tão certo de o abater como era convicção minha cair também. Mas mataram outro e eu escapei. Era uma figura sinistra, misto de clerical e militarista, calcando com o seu tacão de ditador as liberdades tão custosamente alcançadas.»
Cinco pessoas ficaram sem vida: o Presidente Sidónio Pais, o caixeiro Furtado Saraiva, o trabalhador Santos Vidal, um moço de fretes, conhecido pelo nome de Baixinho, e o dono de um lugar de hortaliça, Franco da Cunha.
Ex-combatente em Timor, em África e na Rotunda, José Júlio da Costa era um jovem (tinha 25 anos quando cometeu o atentado) de grandes inquietações, grandes percepções mediúnicas. Tal como Sidónio.
Sidónio Paes, neto de Sidónio (filho mais velho do seu filho mais velho), engenheiro e musicólogo, e Joaquim Pereira da Costa, sobrinho de José Júlio da Costa, advogado e consultor jurídico, são hoje descendentes directos dos dois homens que mudaram a História na gare do Rossio.
«O olhar do meu avô penetrava as pessoas. Era um olhar de luz, ao mesmo tempo doce e firme. Impressionante», evoca-me o descendente de Sidónio. «Só bastante tarde se apaixonou pela política e se deixou galvanizar pelo ritual do poder. De tal modo que foi o primeiro Presidente a cuidar da imagem pública do Estado e dos seus agentes. Nunca acreditámos que a sua morte fosse um acto isolado, o meu pai pensou sempre que foi uma maquinação planeada pela Carbonária.»
Opinião contrária tem Joaquim Pereira da Costa: «Estamos convencidos de que o meu tio agiu por iniciativa pessoal», afirma-me. «Estava indignado e quis lavar a sua honra por incumprimento de acordos políticos. Na minha família não se falava, porém, no assunto. Todos queríamos esquecer. A nossa vida foi completamente estragada pelo que aconteceu. Na escola apontavam-me como sobrinho do assassino, e isso impressionava-me. Quando o meu pai acabou Direito, concorreu ao notariado. Colocaram-no na ilha do Corvo. Não pode ir, nem seguir a carreira. Foi sempre olhado de soslaio. O meu tio nunca foi julgado. E ele queria. As autoridades, porém, não o fizeram. Chegaram a oferecer-lhe dinheiro e ajuda para fugir para a América do Sul. Recusou. Morreu no Hospital Miguel Bombarda, em 1946.»
O corpo do Presidente é metido num carro a caminho de São José. Exangue, Sidónio pede: «Não me apertem, rapazes!» A sua expressão torna-se serena, anotam os jornais. Afiançam, uns, que expirou à saída da estação; outros, que morreu numa marquesa do hospital.
A secretária do Século, o Repórter X descreve, pouco depois, o assassínio — que afirma ter testemunhado. O responsável pela edição interpela-o: as últimas palavras de um homem como ele não podem ter sido essas. Após um silêncio, determina: o que disse foi: «Morro bem, salvem a Pátria.»
Esse será, no dia seguinte, o título. E será, durante anos, a verdade histórica. Até nisso a ficção foi mais forte do que a realidade.
Um amigo põe-lhe um crucifixo no peito. Maria Feio escreve que «o seu desaparecimento físico não constituiu mais do que a sua canonização».
A tragédia de Sidónio arrefecerá o País lentamente. A velha alma portuguesa imergirá, cabisbaixa, uma vez mais, no desânimo, na apatia - e na espera de um novo salvador.
Amoral do Estado Novo encarava a prostituição legalizada como uma actividade social importante: iniciação dos filhos-família, preservação do casamento tradicional, absorção das fantasias extramatrimoniais, estabilização das relações comuns. A sua existência era, assim, profiláctica a vários níveis.
Para Salazar, que a não frequentava, tudo o que fosse controlado, controlável, tinha a sua aquiescência. As casas de passe prestavam, aliás, serviços bastante amáveis ao regime: «O interesse pelo sexo faz diminuir o interesse pela política», confidenciava a Jorge Pablo.
Foi com relutância que as proibiu. A necessidade, ao deflagrar a Guerra Colonial, de montar uma estrutura de apoio psicológico e afectivo, a partir da retaguarda, aos militares em campanha (o Movimento Nacional Feminino) levou-o, para cativar a aderência das senhoras de sociedade, a bani-las.
A 1 de Janeiro de 1963, os portugueses assistiam, entre curiosos e matreiros, ao encerramento oficial dos prostíbulos.
Lisboa contava, na década de 40, com perto de 10 000 prostitutas oficializadas — para uma população de 800 000 pessoas.
«A prostituição era, desde que registada, uma profissão como outra qualquer. As pessoas que a exerciam possuíam um passe, espécie de caderneta identificadora, e compareciam uma vez por mês no Dispensário de Saúde para visitas de inspecção e higiene. No final recebiam um carimbo em como estavam em condições físicas para exercer o trabalho de mulheres públicas. Só podiam ser perseguidas policialmente em caso de escândalo ou de atentado ao pudor», evoca o historiador Fernando Rosas. «Havia redes de proxenetas», acrescenta, «e de casas de passe organizadas, algumas com ligações a meios políticos e económicos de vulto, a quem forneciam menores. Era um negócio bastante compensador.»
Intensificadas, as guerras de África proporcionariam, entretanto, alternativas às mulheres que se lhe dedicavam. Guiné, Angola, Moçambique, tornaram-se-lhes, com efeito, campos férteis de actuação e facturação. Empresários de variedades, de dancings, de ballets, de revistas, brotaram então como cogumelos, organizando, com apoio das Forças Armadas, digressões artísticas contínuas pelo Ultramar.
Das vielas de Lisboa para as plagas de África, as meretrizes seguiram, dilatando, patrióticas, o império, a multirracialidade — e as tendas de alterne. Muitas seguiam, com à vontade e coqueterie, nos próprios barcos dos mobilizados, desenfas-tiando (os navios são excelentes bojos de fornicação) a modorra da travessia.
Jorge de Sena e Mário Cesariny foram os escritores que melhor captaram o pulsar erótico (incomodando Salazar, que os incomodou para sempre) do Estado Novo. O primeiro pela ficção (Sinais de Fogo, romance sobre o aguilhoamento do regime), o segundo pela poesia (Real Quotidiano, metáfora sobre a vigilância da ditadura).
O submundo da província e da capital, das suas transgressões, cumplicidades, vergonhas, ousadias, cobardias, emerge com magnificência nos dois autores. «O que importa é não ter medo: fechar os olhos / Frente ao precipício/ E cair verticalmente no vício», escreve Cesariny.
Provocando o marialvismo então instituído, este rebela-se e assume com esplendor o feminino da sua (nossa) androginia. A polícia de costumes humilha-o, a inteligentzia de esquerda menospreza-o. Ele não se deixa, porém, demover.
Perturbador, constrói um universo paralelo onde reina entre marinheiros, gatos, quartos, bares, ruas, engates, paixões, ludíbrios. A sua lucidez rola sobre as décadas como um filtro de inebriamentos. Cesariny faz-se um ser acima do seu tempo e do seu espaço.
Lisboa povoa-se, nessa altura, de «putas, chulos, gatunos e marinhagem, uns príncipes!», exclama. Engenhosos fios de narrativa conduzem os mancebos que, ao deambularem pela cidade, conhecem os bas-fonds dos interditos secretos — e fascinam-se por eles.
Depois partem em «navios de espelhos» para guerras em África, o «último continente surrealista». Matam e regressam feitos caricaturas de heróis, heróis-travestis, vestidos coleantes, sapatos altos, cabeleiras loiras, lábios de sangue, canções de rouquidão. «Divertem-se mais detrás para trás, do que detrás para diante», provoca o poeta. «Nada tem tanta necessidade de suplício como a vida oculta.»
Gatos de café
Ousados, independentes, caóticos, os cultores do surrealismo (do que está para além do real) marcaram a arte, a literatura, a filosofia, os comportamentos do seu século. Em meia dúzia de anos perturbaram a vida portuguesa, convocando-a para a modernidade e a liberdade. Foram o grupo intelectual mais libertário e incómodo da nossa cultura.
A sua formação surge em 1947, entre jovens artistas e intelectuais que frequentavam o Café Gelo, no Rossio, duas décadas depois de o movimento se ter afirmado em França.
Antes, noutro café (o Herminius), outros jovens (estudantes da Escola António Arroio) haviam avançado com propostas anunciadoras da nova corrente. Cesariny, Cruzeiro Seixas, Pedro Oom, Vespeira, Moniz Pereira e Pomar, a que se juntam António Pedro, Paolo, Júlio, Costa Pinto, Alexandre O'Neill, José Augusto França, Risques Pereira, Mário Henrique Leiria, António Maria Lisboa, Carlos Eurico da Costa, António Dacosta, Areal, Escada, Vespeira, Natália Correia, fazem-se-lhes flâmulas.
Hostilizados pelos salazaristas e comunistas, malvistos pelos católicos e burgueses, marginalizados pelos jornais e universidades, acabam, três anos depois, por separar-se. António Maria Lisboa morre, Cesariny vai para Londres, Cruzeiro Seixas para África, Henrique Leiria para a América Latina.
Eles sabem (Freud é-lhes uma referência) que a grande revolução a fazer é a sexual; que as outras vêm por acréscimo ou, como no Leste, não vêm.
Não é tanto por motivos políticos que passam a ser denegridos, mas por violações de comportamentos e costumes. Alguns vêem-se perseguidos pela polícia, que os agride, pelos detentores dos poderes, que os marginalizam, pelos líderes de opinião (de todos os quadrantes), que os achincalham.
«Tão conservador (em questões morais) como o Estado Novo, o PCP ridicularizava, combatia, todos os autores que não fossem neo-realistas», lembra Natália Correia: «O neo-realismo tinha um aparelho político subjacente. Dominou publicações, jornais, editoras... os surrealistas ocupavam, quando muito, as mesas dos cafés.»
Uma nova tentativa de afirmação ocorre em 1958 (também no Gelo) através de João Rodrigues, Gonçalo Duarte, Ernesto Sampaio, José Sebag. Surge o surrealismo abjeccionista — e surgem novas crispações.
O espírito que o anima «tanto pode encontrar o passado mais remoto como o futuro mais imprevisível», destaca Cesariny que lhe dá, como símbolo, a figura de um gato. A perda do corpo (pelo envelhecimento), do desejo (pela melancolia), da cidade (pela desertificação), deflagrá-lo-á nos anos seguintes: «O nosso é um amor de grandes solidões povoado de pequenos peixes», murmura.
Com Florbela, Sá Carneiro e António Botto, Cesariny forma o triângulo dos supremos malditos do século.
O crucificado
António Botto foi o poeta português mais crucificado, por motivos amorosos, e menos divulgado, por motivos morais, no Estado Novo. Um livro bastou, Canções, para lhe dar, no entanto, lugar cimeiro na nossa literatura e na nossa subversão.
«As Canções foram, nos anos 20 e 30, uma das grandes forças da poesia moderna portuguesa, se bem que das menos confessadas e reconhecidas», escreverá Jorge de Sena.
Nascido a 17 de Agosto de 1897, nos arredores de Abrantes, Botto emerge, muito novo, nos cafés e nas livrarias de Lisboa. Torna-se amigo de Pessoa, Aquilino, Pascoaes e Régio. Convive com actores, cineastas, jornalistas, fadistas.
Com audácia assume, é o primeiro escritor a fazê-lo entre nós, a sua homossexualidade. Isso dá-lhe, de imediato, uma auréola fascinante para uns, insuportável para outros.
A polícia, chefiada por Ferreira do Amaral, apreende as Canções. Faz o mesmo a obras de Raul Leal (Sodoma Divinizada), Judite Teixeira [Decadência) e António Ferro (a quem proíbe, no dia seguinte à estreia no São Carlos, a peça Mar Alto).
Estudantes, entre os quais Marcello Caetano e Teotónio Pereira, publicam, escandalizados (em Março de 1923), um manifesto contra Botto, dirigido a «todos os homens honrados de Portugal».
Fernando Pessoa, Aquilino Ribeiro, José Régio, Teixeira Gomes (Presidente da República), solidarizam-se, entre outros, com o visado. Teixeira Gomes escreve mesmo uma carta-prefácio para a segunda edição de Canções — que as autoridades não se atrevem a confiscar.
Fernando Pessoa vem, por sua vez, a público com um «Aviso por causa da moral». Nele verbera o comportamento dos jovens escandalizados, a quem exorta: «Ó meninos: estudem, divirtam-se e calem-se. Divirtam-se com mulheres, se gostam de mulheres; divirtam-se de outra maneira, se preferem outra. Tudo está certo, porque não passa do corpo de quem se diverte. Mas, quanto ao resto, calem-se. Porque só há duas maneiras de ter razão. Uma é calar-se, e é a que convém aos novos. A outra é contradizer-se, mas só alguém de mais idade a pode cometer.»
A crítica coloca-se em peso do lado dos moralistas. Álvaro Maia desfaz (na Contemporânea) o poeta como «réu de nefando», cujo livro qualifica de «rebotalho», de «pus literário», de «miséria impressa», de «torpe exibição do amor trácio que só tem de especial o ser, em toda a acepção da palavra, uma porcaria». Na mesma linha, Tomás Ribeiro Colaço designa (na revista Fradique) a obra de Botto como «pura fancaria».
Pessoa não desarma. Através dos heterónimos e dos jornais, carrega sem descanso contra os que aviltam Botto.
«Boto distingue-se com facilidade de qualquer outro poeta, português ou estrangeiro», é o único «a quem a designação de esteta se pode aplicar sem dissonância». Ele «afasta-se de toda a moralidade no modo por que canta a beleza física», e «de toda a imoralidade no modo por que canta o prazer».
Assediou um colega
Em 1942, António Botto é demitido do emprego (escriturário de primeira-classe do Arquivo Geral de Identificação) por desobedecer a ordens de superiores, por assediar um colega de serviço e por fazer (e recitar) versos nas horas de expediente.
Passa a sobreviver de colaborações e direitos de autor. Escreve muito. Vende bem. O seu Livro das Crianças é adoptado oficialmente nas escolas irlandesas. As Canções atingem catorze edições. Inúmeros fados de êxito são baseados em poemas seus.
Luís de Oliveira Guimarães recorda-o como «um homem de talento, bastante irónico e inteligente. O seu comportamento sexual afastava, no entanto, muita gente de si, havia pessoas que não lhe falavam sequer. Era objecto de chacota quando entrava nos cafés, nas livrarias, nos teatros. Com o passar do tempo começou a sentir que não o respeitavam, não o admiravam como merecia. Isso fê-lo partir para o Brasil».
A 7 de Maio de 1947, João Villaret, Amália Rodrigues, Palmira Bastos, Aquilino Ribeiro, homenageiam-no com um recital no São Luís (repetido no Porto). Aquilino foi, na sua
intervenção, magnífico; Villaret, avassalador; Amália, esplendorosa. Muitos saíram do teatro com lágrimas — e com vergonha.
A roda do destino desandará, porém, e em velocidade crescente, sobre o poeta. «Ele fingia que não ligava às ofensas que lhe faziam. Refugiava-se no sarcasmo, na crítica, sobretudo na crítica a si próprio, mas no fundo sofria muito», recorda-me a actriz Madalena Sotto, amiga e intérprete do artista. «Quando resolveu exilar-se, estávamos a trabalhar no projecto de um filme que começara a escrever. Ainda não tinha título, e o realizador deveria ser o Leitão de Barros ou o Lopes Ribeiro. A notícia publicada no Diário do Governo sobre a sua exoneração, por homossexualidade, desmoralizou-o, embora ironizasse dizendo: "Sou o único homossexual reconhecido no País." As pessoas tradicionais não gostavam dele. Ele, aliás, dizia-lhes na cara o que pensava delas, não tinha pejo em fazê-lo. Era um ser superior, e sabia que o era.»
O Rio faz-se-lhe uma cidade hostil. Tudo se lhe torna adverso. Não tem saída. Autocensura-se no que escreve, rees-creve. As suas crónicas na imprensa e na rádio, os seus recitais, as suas peças de teatro (Flor do Mal, Nove de Abril, Alfama), os seus desenhos, os seus contos infantis, as suas reedições, não o salvam. O público afasta-se.
«Andou pelas ruas da amargura. Chegou a recitar o fado em botequins de São Paulo. Felizmente tinha gente que o admirava», evoca Beatriz Costa. «Botto foi para o Brasil graças à generosidade do grande mecenas que se chamou Ricardo Espírito Santo.»
Amália Rodrigues pormenoriza-me: «Salazar, que se sentia muito incomodado, pediu ao Ricardo para o ajudar a ultrapassar a situação, o que ele fez.»
Não foi por questões políticas «que Botto sofreu o que sofreu», sublinha-me Fernanda de Castro. «Ele tinha, aliás, gente que gostava dele e o detestava, em todos os sectores. Cerejeira admirava-o muito, escreveu até o prefácio para Fátima, Poema do Mundo. Foi vítima dos preconceitos morais da época, que eram tão fortes, tão cruéis, à direita como à esquerda. A sociedade não lhe perdoou o ter exibido o que era norma esconder. Cedo percebeu que só se tinha a si mesmo, por isso se tornou narcísico, megalómano. Com desespero e delírio.»
Ao atravessar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio, é atropelado por um carro do Estado. Morre 12 dias depois, a 16 de Março de 1959.
A mulher, Carminda Silva Rodrigues, enviará do Brasil o espólio do marido a João José de Silveira Barros, seu parente, que o doará, em 1989, à Biblioteca Nacional.
Sem que muitos o suspeitassem, existiam na Lisboa de outrora carnavais de razoável transgressão. Fingindo ignorá-los, o regime permitia-lhes noites e becos próprios, onde se geravam respirações fabulosas, faca nas braguilhas, cio nas ligas, chungaria nos movimentos.
Eram os entrudos rascas dos bairros periféricos, frenéticos e nauseabundos, grandiosos e ofuscantes, violentos e ambíguos, eles no meio delas, feitos elas por vestidos, bases, batons, cravos na orelha, máscaras no desbragamento, interditos nos requebros.
Um pouco de música, de vinho, de companhia, de liberdade, de fantasia, bastavam para a festa, para a evasão, para a certeza de haver príncipes e cinderelas à espera de serem disputados, partilhados.
Os bailes de Carnaval faziam-se nirvanas ao lado dos quais fé, cultura, dinheiro, pátria, famílias, não valiam um rodopio, um corpo, uma carícia, um êxtase.
Sete Moinhos, Andorinhas, Rei Mar, tornam-se esquinas nesses mapas grotescos, de grotescos, onde Manuel da Hortaliça é a rainha, com corte de consortes, lantejoulas, ademanes, ceptros, desfiles, galardões, humidades, genialidades.
«Tenho 62 anos mas levo a vida de um rapaz de 17, apesar de ser casado e pai de dois filhos, e de ter uma angina de peito. Quando não puder, morro!», dir-me-á pouco antes de lhe amputarem as pernas — e a vida.
Às quatro da manhã andava-se à pancada por ciúme de travestis, de marinheiros, de chulos, entre cervejas, serpentinas, volteios de dança e de paixão.
Pela cidade, noutras salas, noutras fosforescências, gestos idênticos repetiam-se com a mesma planura. Bairro Alto, Benfica, Alfama, Graça, Prazeres, Madre de Deus, Campolide, faziam-se estradas de Santiago, subterrâneas, frementes, cem escudos duas bebidas, uma sande, uma rifa, uma viagem pela nudez de um povo que se ergueu às índias e se ajoelhou às inquisições — e procura, nas névoas, a alma por assumir.
Durante três dias, as regras eram anuladas com regras, outras, minuciosas e seculares. Hábeis, os sistemas repressivos geravam simulacros de libertações, marcavam-lhes calendários, delimitavam-lhes territórios, levantavam-lhes refúgios, acertavam-lhes relógios.
Sem grande coisa a perder, os que imergiam nesses paganismos não se davam, sequer, à prudência de escamotear o que não eram. E enquanto o baile ondulava, assaltavam-se automóveis, roubavam-se malas, amava-se a favor e contra a natureza, ante a indiferença, o voyeurismo, a inocência dos circundantes.
As diferenças esbatiam-se. Músicas, desejos, fumos, fundiam-se, libertando comunhões mágicas e arrebatadoras.
Pregadas às paredes, as velhas do bairro sorriam embevecidas aos meneios dos filhos nos braços de outros, enquanto as namoradas cochichavam sem vez nem voz.
«Que ideia, importa-me cá que o meu filho se divirta com travestis! Ele acha-lhes graça, trata-os como se fossem raparigas, está tudo certo!», gargalha-me uma matrona, leque na mão, brejeirice no olhar.
Dispensado de comportar-se segundo os cânones estabelecidos, cada um safa-se o melhor que quer, que pode. Vindos da grande cidade, há senhores de posses e disponibilidades (nomes sonantes das artes, das letras, dos espectáculos, da diplomacia) que adregam ali, atraídos por chamamentos indizíveis, irresistíveis.
O Carnaval português, canalha, dissimulador (que nada tem a ver com corsos importados e vedetas televisivas], jogava-se em pátios, em sociedades, em becos sem vergonha, sem crónica — devia ter sido a nossa festa nacional.
Emprestarem o corpo
«A sociedade portuguesa foi sempre, do ponto de vista cultural e político, segregada do povo. Uma das características do intelectual e do dirigente é não saberem o que é que o povo pensa e fala. Mesmo quando provêm dele, ao fim de dez anos perderam-lhe já todo o contacto. Temos uma estratificação social ainda muito rígida, muito autista. Somos julgados pelo que os outros dizem que escrevemos ou dizemos, não por aquilo que nós escrevemos ou dizemos», destacava-me Jorge de Sena, falando de um jacto sob os aguilhoamentos que o acompanhavam desde a infância.
Atirava-se à vida com fulgores de vertigem: «Moralmente falando, sou um homem casado e pai de nove filhos, que nunca teve vocação», sublinha, «para patriarca, e sempre foi em favor de a mais completa liberdade ser garantida a todas as formas de amor e de contacto sexual. Nenhuma sociedade estará jamais segura, em qualquer parte, enquanto uma igreja, um partido ou um grupo de cidadãos hipersensíveis possa ter o direito de governar a vida privada de alguém.»
Um dos «prazeres sexuais dos seres humanos tem sido o de reprimir a sexualidade, a própria e a dos outros», enfatizará. «Defendo todas as formas de prostituição, como profissão protegida pela lei e vigiada pela saúde pública. Ainda que isso possa chocar muita gente, parece que, desde sempre, houve machos e fêmeas cujo único talento na vida, e cuja vocação definida, é emprestarem o próprio corpo. E quem se vende ou quem compra (o que não tem nada a ver com capitalismo, mas com o direito de qualquer pessoa a dispor de si mesma, em acordo com outra) deve ter a protecção da lei contra redes de exploração, chantagens, etc. O que duas pessoas (ou um grupo delas) fazem uma com a outra, fora das vistas dos demais, não diz respeito a esses demais, a não ser que eles vivam na observação mórbida de imaginarem (num misto de horror e curiosidade, que os torna moralistas raivosos) o que os outros fazem. E o que os outros fazem não altera em nada o equilíbrio social.»
A pornografia pode ser «um prazer para muita gente e, às vezes, o único que lhes é concedido, pois as pessoas idosas, solitárias, não atractivas, não encontram nunca o chinelo velho para o seu pé doente. Uma prostituição oficializada é obra de caridade para com os feios e os tímidos».
Subsidiar a pornografia
Porque hão-de ser «só os ricos ou os de maiores posses a terem acesso à pornografia, e não os pobres?», interrogava. «As classes mais desprotegidas deviam ter a sua pornografia mais barata, subsidiada pelo Governo, se o Governo fosse ao mesmo tempo inteligente e progressista nestas matérias. Somos um país imoral, um país depravado às ocultas», radicalizava. «Foi isso, no entanto, que nos salvou de mergulhar nas sombras horrendas do puritanismo. Puritanismo que não é parte da nossa herança cultural. Mil vezes a pornografia do que a castração, a prostituição do que a hipocrisia. Se alguma coisa há que deve ser sagrada, é o prazer sexual entre pessoas mutuamente concordantes em dá-lo e recebê-lo, ou negociá-lo.»
Os adolescentes e as crianças sempre souberam, por exemplo, «muito mais do que os adultos fingem que eles sabem. Raros terão sido os jovens seduzidos na sua inocência, na maior parte dos casos, o contrário é que é verdade. O fazer amor é uma arte que se aprende, e todas as grandes civilizações, mesmo esta miserável que se chama civilização ocidental, souberam refiná-la desde a iniciação. Se alguma coisa há, num mundo que perdeu a noção do sagrado (que nas suas manifestações sempre incluiu a sexualidade) e guardou apenas o da proibição legal, se alguma coisa há que deva ser sagrado, é o prazer sexual entre pessoas concordantes em usufruí-lo e partilhá-lo».
Portugal foi um dos países europeus que mais cedo conheceram o turismo sexual. Ponto de passagem de viajantes, cavaleiros, peregrinos, mercadores, navegadores, o seu clima e a sua gente depressa o fizeram referência de sensualidades, de deleites.
Lisboa, na altura das Cruzadas e dos Descobrimentos, a Madeira, no tempo das navegações e dos ingleses, o Estoril e a Figueira, nos anos 40, a Caparica e o Algarve, nos 60, impuseram-se ângulos nos roteiros dos delírios íntimos. Esse património funcionou sempre como um recurso de sobrevivência para nós.
Não foram só o sol, a praia, o mar, que projectaram o turismo português; foram também, foram sobretudo, o encanto, a disponibilidade convivencial dos nossos jovens que o conseguiram.
A indústria das viagens internacionais depressa percebeu essas características e as desfrutou com discrição, com ambiguidade — como os portugueses gostam de ser desfrutados.
Lisboa tornou-se, com a Segunda Guerra, uma das capitais de maior prostituição da Europa. Como já o fora noutras épocas, no começo da nacionalidade, no cume dos Descobrimentos. A prostituição revelou-se-lhe, aliás, sempre alta e convicta, apesar dos totalitarismos, das inquisições, das pestes, das intolerâncias.
Abertos aos outros, oferecemos-lhes com gentileza, com naturalidade, o que temos de melhor: gastronomia, monumentos, artesanato, lazeres, quietude, afagos.
Turistas estrangeiros de ambos os sexos chegavam, há décadas, com contactos estabelecidos para reserva de acompanhantes locais. Nos anos 60, fogosas ianques precipitavam-se, mal desembarcavam na Portela, na direcção dos pescadores da Caparica, da Nazaré, da Póvoa, de Tavira. Operadores compreensivos organizavam-lhes essas rotas — de excelente sabor e calor.
«Previamente avisados, os mais jovens ficavam em terra. Frequentemente eram as próprias mulheres e mães que os ofereciam», pormenorizava-nos António Almor Caeiro, director de uma agência de viagens. «Ganhavam mais numa tarde, assim, do que em dois meses na faina.»
Por essa altura, Cliff Richard, supervedeta da canção, descobria Albufeira e inundava-a de amigos, de festas, de vipes, de inovações. A grande imprensa cor-de-rosa europeia (a nacional era minúscula) rendia-se-lhes e projectava internacionalmente o Algarve, depois de ter feito o mesmo ao Estoril e a Sintra.
Ondas de pouca-vergonha, de nenhuma vergonha, atravessam províncias, gerações, costumes, catecismos. Lésbicas e gays escandalizam, fascinam — transformam.
A Guerra Colonial estilhaça, nos que a vão cumprir, inibições. Milhares de jovens, ajudados pela emigração e pela TV, rompem normas, invertem modelos.
A Madeira, jóia da coroa do nosso turismo, torna-se uma flor carnívora internacional. Lugar da Europa com mais adolescentes bonitos por metro quadrado, o Funchal atrai, desde o século XVIII, viajantes de qualidade e exigência.
Ingleses, franceses, germânicos, holandeses, fazem-se familiares na ilha. Muitos escrevem sobre os seus habitantes (veja-se o Elucidário Madeirense) trechos de empolgamento; outros confidenciam sobre eles paixões de divulgação interdita.
A mudança dos tempos provocou a mudança dos circuitos sexuais. Perdeu-se sedentarismo, ganhou-se (o automóvel ajudou) trottoir.
Francesas vindas de Marselha, espanholas vindas de Sevilha, rivalizam, no gosto e na bolsa dos homens de Lisboa, com portuguesas vindas das Beiras.
O luxo e a sensualidade fazem da capital «uma espécie de Sodoma e Gomorra que há muito teria sido destruída se o Deus dos católicos não fosse também um desbragado sultão», ironizam jornais da época.
A maioria dos bordéis de Lisboa acolhia-se nos bairros típicos, em ruas próprias, situando-se nos primeiros e segundos andares, com janelas de cortinas floridas abertas a quem passava.
Nos arredores proliferavam as hortas polvilhadas de retiros de fadistas e barracas de comidas. «Algumas tinham gabinetes reservados, servidos por mulheres da vida, chamadas barraqueiras ambulantes», anota Tovar de Lemos.
No Porto, as casas de passe eram identificadas pelos números das portas e pelos nomes das patroas, como a «Lola do Palácio», a «Miquinhas da Boa» ou a «Portugal/Espanha».
Francisco Pereira de Azevedo, ex-inspector de saúde (para o sector), comentará que elas «são caritativas, sempre prontas a socorrer as companheiras na doença ou na desgraça. Fazem esmolas aos pobres e muitas ajudam a existência dos parentes. O instinto religioso vence nelas a voluptuosidade sensual».
Chulos, fadistas, marujos, gatunos, protectores, rufias, polícias, maridos (complacentes), constituíam o universo envolvente da prostituição oficial. Nela desempenhavam papel importante as angariadoras (antigas rameiras) que tinham por missão renovar os elencos das alcovas — que abasteciam. Chegavam a vestir-se de freiras e enfermeiras para, nas estações onde desaguavam os comboios, aliciarem as jovens vindas do interior.
Proxenetas deslocavam-se, por sua vez, às terras de província, contactando raparigas que quisessem servir em Lisboa, de preferência «adolescentes com seios redondos, nádegas amplas, boas cores e alvos dentes».
Cocotes, odaliscas, pegas, borboletas, fadistas, eram designações populares das «mulheres da vida». A Júlia Gorda, a Rita Bonita, a Adelaide Veterana, a Elvira Zuca, a Laura de Setúbal, a Zefa Zaragateira, a Emília Faneca, a Perinha de Cheiro, a Maria dos Espartilhos, a Augusta Alta, fizeram-se nomes de guerra com fama e proveito.
A história da costureirinha que troca o dedal pela cama vira fado corrido: «Feliz passo os meus dias / E no gozo me concentro / Sinto um certo prazer / Quando algum mancebo me diz: / Menina deixa meter? / Consinto, está bem de ver / Se não for tipo mazombo. / Dou-lhe nos cobres um rombo / Em troca de sensações / E em certas ocasiões / Da desgraça rio e zombo.»
Sacerdotes «useiros e vezeiros na prática de atentados contra a castidade das virgens e o pudor das mulheres casadas», moralizava o jornal a Vanguarda, frequentavam os prostíbulos com desinibido empenho. Os vadios do Bairro Alto cantarolavam: «Proibiram o casamento aos padres / Porém, não lhes cortaram a minhoca / Por isso qualquer deles anda à coca / Das putas, das criadas, das comadres.»
Nessas épocas, o casamento não constituía um acto de amor mas de conveniência, onde o desejo, a paixão, estavam quase sempre ausentes; o prazer encontrava-se, por isso, fora dos cônjuges e dos lares — noutros parceiros e alcovas.
O grosso das prostitutas era constituído por antigas criadas de servir, costureiras e operárias; engravidadas, viam-se despedidas e, sem recursos, lançadas na vida.
Os prostitutos recrutavam-se entre os jovens que, fugidos ao trabalho dos campos, circulavam pela capital sem modo de vida; e entre os mancebos mobilizados pela tropa (Exército e Marinha), os aprendizes de ofícios, os moços de recados, os desempregados de ocasião, os aspirantes à polícia, à administração, às actividades artísticas, desportivas, sociais.
Mais de 60 por cento dos que procuram prostitutas (prostitutos) são indivíduos tímidos. «Hesitam sempre em despir-se, têm vontade de falar de tudo menos de sexo», conta-me uma profissional. «Muito doces ao princípio, entusiasmam-se depois e tornam-se bastante vivos. Quando vemos chegar um tipo do género intelectual, muito bem vestido, há nove hipóteses em dez de que ele seja um masoquista. Os pedidos mais estranhos vêm de indivíduos das classes mais altas, como directores de empresas. São pessoas que exercem, na vida profissional, controlo sobre outros homens e querem que eu os alivie desse fardo. Procuram a sensação de estar indefesos na mão de outra pessoa.»
As famílias pobres tornaram-se as primeiras a empurrar os filhos, sobretudo se rapazes (não engravidam, não dão nas vistas), para a rua. «Mais de 6000 jovens prostituem-se, às claras, em Lisboa. Tendo cada um nove clientes, em média, veja-se a dimensão do problema», anota-me o responsável por um centro de assistência a adolescentes em crise. «Ganham bem e depois de um certo treino executam a sua função sem grande esforço.»
Havia um frenesim de sensualidade e neurose na Lisboa do final do fascismo, como havia na do final das Descobertas. O número dos que tinham vidas duplas disparava.
Alguns dos que se prostituíam procuravam nos que os procuravam o pai, a mãe, inexistentes. Era, aliás, frequente terem clientes certos, com quem criavam laços de amizade, de afecto, de protecção, de confidência. A parte afectiva surge com mais frequência do que se supõe. E nas circunstâncias mais inimagináveis.
Salazar sabia que esse era o cimento secreto da união nacional dos portugueses — que nada tinha a ver com a União Nacional do regime. Por isso jamais se atreveu a intrometer-se-lhe.
Para deleite do presidente do Conselho, Portugal abre-se, na sequência das transformações provocadas pela Segunda Guerra, como abrigo a monarcas destronados, casos de Humberto de Itália, Semião (e Joana) da Bulgária, Carol da Roménia, Horty da Hungria, condes de Paris, condes de Barcelona.
Salazar não contacta pessoalmente com eles, mas segue-lhes de perto todos os actos.
Sucessor de Alfonso XIII de Espanha, Juan de Borbón, radicado no Estoril com a mulher e quatro filhos (um deles Juan Carlos, actual rei de Espanha), cedo lhe provoca indisfar-çável antipatia. Que se torna recíproca.
O conde de Barcelona acha Salazar, repetir-me-á, «um homem muito inteligente, mas muito autoritário». Discordando da sua política colonial, defende com veemência a realização de conversações directas com África, como fez a Espanha, a Inglaterra, a França.
O presidente do Conselho critica os planos de Franco de querer restaurar o trono com «semelhante gente». Designa Juan de Borbón por «Pavão», e escarnece dos seus modos extrovertidos, das suas «manias democráticas», da sua inclinação para o golfe e a vela — um homem sério não perde tempo com coisas dessas. Quando o seu carro cruza o dele, nas imediações do Estoril, mergulha os olhos no jornal a fim de o não fitar.
Recusando expulsá-lo, como lhe pedia o Generalíssimo, põe a PIDE a vigiá-lo e a fornecer cópias dos relatórios à Seguridad. O seu motorista, José Jurado, é o principal informador da polícia.
Salazar aproveita-se do conde quando lhe interessa des-feitear o Caudilho, o que faz com frequência. Na inauguração da ponte sobre o Tejo dá-lhe, por exemplo, lugar de honra, à frente do embaixador de Madrid; antes, recusara devolver ao país vizinho o rei Carol da Roménia, rocambolescamente fugido para Portugal (não se adaptara a Espanha, onde se acolhera depois de, por paixão a uma judia, ter abdicado no filho) no porta-bagagens de um automóvel; e rejeita, mais tarde, apadrinhar o líder espanhol na cerimónia de doutoramento honoris causa com que a Universidade de Coimbra o distingue - e que, a seus olhos, não merece.
Uma estranha sensação de dependência envolvia Salazar sempre que enfrentava Duarte Pacheco. Fora ele quem, a pedido de Vicente de Freitas, chefe do Governo, se deslocara a Coimbra para lhe oferecer a pasta das Finanças. Essa subalternidade inibiu-o. Os seus modos sedutores, decididos, desconfortavam-no profundamente.
O ministro das Obras Públicas e presidente da Câmara de Lisboa mudou, com a panóplia das obras realizadas, o rosto de Portugal. Alguns chamavam-no «o segundo Marquês».
A sua morte aos 44 anos, quando o automóvel em que seguia se despistou, perto de Vendas Novas, contra uma árvore, será assinalada com lágrimas e champanhe, consternações e alívios, em vários círculos do País.
Colocando os interesses do Estado (dos seus projectos para o Estado) acima dos interesses individuais, Duarte Pacheco atemorizou e dominou em poucos anos a sociedade de então.
A burguesia dominante, sobretudo a especuladora e a nova-rica, odiou-o de morte; a aristocracia não lhe desculpou o ter-se batido, em jovem, pela República; a intelligentzia reverenciou-o, primeiro, e desprezou-o, depois; a classe política exultou-o e denegriu-o ao mesmo tempo.
O povo, esse, adorava-o. Seguia os seus comportamentos mundanos («cinéfilos» lhe chamava António Ferro) com êxtase. O saber «cortar a direito» tornou-o lendário.
Arruinou o património de inúmeras famílias, expropriou, sem pagar, ou pagando simbolicamente, terrenos, quintas, casas, jardins, futuros. Os direitos dos cidadãos cediam ante os direitos do regime.
Conta-se que, para colocar as janelas no Instituto Superior Técnico, abriu concurso pedindo às empresas amostras de vidros. Enviaram-lhas. Ele utilizou-as e não adjudicou o concurso.
Mais do que um «expropriador» foi um «confiscador», deixando por vezes Salazar «entupido de espanto». O que «ele faria se, em vez de um Salazar, tivesse um Vasco Gonçalves como primeiro-ministro!», comentará, irónico, um antigo colaborador.
Houve quem insinuasse — é antiga a propensão de vermos sabotagens nos acidentes dos poderosos — que o desastre que o vitimou não foi natural. Ele teria contrariado tantos monopólios, tantos interesses, tantos arranjos, tanta especulação, que aos grupos afectados só restou, segundo essas insinuações, eliminá-lo. Nada foi, no entanto, e como sempre acontece nestes casos, provado.
Nascido em Loulé, a 19 de Abril de 1899, José Duarte Pacheco formou-se em engenharia electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, de que foi professor e, aos 25 anos, director. Entra na política como presidente da Câmara de Lisboa e ministro da Instrução Pública.
Um ciclone que avassala o País em 1941 permite-lhe revelar qualidades de liderança, de sangue-frio, de actuação, de socorro, invulgares.
Combate o desemprego com linhas de trabalho disseminadas por todo o País. Lança habitações sociais, abastece de água Lisboa, repara monumentos em ruínas, castelos e pousadas, espalha escolas e cadeias, irriga terras, estrutura transportes, consolida portos, lança aeroportos.
O Estádio Nacional, a auto-estrada, a marginal Lisboa-Cascais, o viaduto de Alcântara, a Casa da Moeda, o Instituto de Oncologia, são algumas das suas realizações emblemáticas — que o presidente do Conselho inaugura.
Pardal Monteiro, Cassiano Branco, Jorge Segurado, Keil do Amaral, Miguel Jacobetty, Cristino da Silva, Leopoldo de Almeida, Barata Feyo, Cottinelli Telmo, Leitão de Barros, António Duarte, Maria Keil, Jorge Barradas, Edgar Cardoso, João Maria Ferreira do Amaral foram alguns dos engenheiros, arquitectos e artistas plásticos que trabalharam para ele.
«Conheci o Duarte Pacheco», evoca-me o engenheiro João Maria Ferreira do Amaral, «quando me chamou para trabalhar na Exposição do Mundo Português. Eu tinha sido nomeado director da Fiscalização Energética do Sul e ele queria que tomasse conta da parte eléctrica da Exposição. Fui. Trabalhava muito com o Cottinelli Telmo e o Henrique Galvão, até que deflagrou a Segunda Guerra. Então, surgiu a dúvida se continuava ou não. Parámos durante um mês e tal, depois Salazar decidiu avançar. Antes de Duarte Pacheco não havia arquitectos em Portugal. Deve-se-lhe a criação do Curso Superior de Arquitectura. Pesem embora as partes negativas, revelou-se um homem notável, com uma grande visão, um grande saber.»
Outro colaborador seu foi o engenheiro e arquitecto Edgar Cardoso (uma referência internacional), então em início de carreira.
O betão armado, uma das suas descobertas, projectou-o: «Consiste em betão reforçado, no interior e no exterior, com ferros. A coisa surgiu», explica-me, «na Guiné ao ver os administrativos meterem canos de armas, espingardas, canhangulos apreendidos aos pretos, no betão. Daí o nome de armado.»
Trabalhou intensamente com o malogrado ministro na construção do viaduto que tem o seu nome. «Ele ensinou-me muitas coisas, mas eu também lhe ensinei algumas», comenta.
«Quando Salazar autorizou a ponte sobre o Tejo (fingia-se contrário à sua realização, mas era fita), pediu um estudo no qual participei com o Duarte Pacheco, o promotor, aliás, da ideia.
A obra acabaria, no entanto, adjudicada aos norte-americanos. Como estávamos em Guerra Colonial, o chefe do Governo, para dar manteiga a Washington, disse ao Presidente Eisenhower: "Vocês não façam muito barulho nas Nações Unidas, não me ataquem demasiado que eu dou-vos a concessão da ponte." Tudo politiquices! Quem concebeu, porém, o perfil transversal, quem estudou os processos, os caixões, etc, fui eu. Eu tinha uma ideia muito diferente e muito melhor, mais barata, mais bonita, mais estável, nunca lhe poria aquela grelha no pavimento, uma ponte não é para ficar furada e aos tremeliques. É incrível que se tenha aceite semelhante acabamento. Só tipos pouco escrupulosos é que procedem assim. Os americanos não a pintaram sequer. Como quiseram ganhar o prémio dos prazos e não exceder os orçamentos, deixaram-na ficar com o tom do zarcão. Só depois foi pintada. Eu preferia que tivesse sido de uma cor mais adaptada ao ambiente, um azulado, um esverdeado, um laranja... mas ficou aquela para ninguém perceber a aldrabice feita.»
Duarte Pacheco possuía, como Salazar, uma fortíssima costela centralizadora. Para ele, o grande poder era o poder público, não o privado; o do Governo, não o dos outros órgãos de soberania nem o dos partidos.
«Déspotas iluminados», o primeiro no betão, o segundo na administração, formaram uma dupla rara na nossa História.
«Aturar o Duarte Pacheco foi o maior sarilho da minha vida», exclama-me Luís de Oliveira Guimarães, advogado e escritor.
«Eu tinha uma prima que vivia na Rua da Rosa e que, por motivos económicos, alugava quartos a estudantes. Certa vez apresentou-me dois hóspedes. Eram o Duarte Pacheco e o Norberto Lopes. Daí vieram as minhas relações com eles. O Norberto Lopes foi para Direito, que era o meu curso, e o Duarte Pacheco para o Instituto Superior Técnico.
«Quando se tornou ministro das Obras Públicas, meteu-se-lhe na cabeça fazer aquela auto-estrada que vai para Cascais, a que tem o viaduto. Foi o diabo por causa das expropriações. Ele desrespeitava tudo, leis, direitos, tudo, era medonho! Então pediu por ofício ao Ministério da Justiça que lhe destacassem um magistrado para resolver as trapalhadas em que se metia. Informalmente, porém, pegou no telefone e zás, chamou-me a mim. Sofri as passas do Algarve. Ninguém pode imaginar o que padeci com aquela estrada. Desgraçou muita gente. Ainda salvei os direitos de algumas pessoas. Entre elas os do Teixeira Gomes, que tinha uma casa que fora demolida. Consegui que recebesse uns contitos de réis. Salazar deixava-o fazer tudo. Dava-lhe corda para tudo. Se calhar para o enforcar.»
Bom conhecedor do carácter do presidente do Conselho, Duarte Pacheco urdia, quando precisava do seu apoio, maneira de ficarem a sós. Distraía-o com historietas mundanas e graças de bastidores, a que misturava pitadas patrióticas e gestos de adulação, até conseguir o que pretendia.
Salazar, que o desejava ao mesmo tempo perto e longe, chamava-lhe «a serpente» (António Ferro, «a víbora»), não escondendo, entre os íntimos, a incomodidade que, por vezes, lhe provocava.
Na primeira remodelação que faz do Governo afasta-o. Diz-se mesmo que a remodelação foi um pretexto para o dispensar.
Duarte Pacheco fica silencioso mas furioso. Não perde a jactância. Sabe que o presidente do Conselho o chamará de novo. O que acontece.
Em breve, este restitui-lhe a pasta das Obras Públicas e dá-lhe a direcção da Exposição do Mundo Português.
«A sua obra não pode ser acusada de excessiva e desproporcionada. Sem dúvida, ultrapassa os hábitos e o momento, mas não excede Portugal», sublinha Salazar, com acerada ambiguidade, no discurso proferido, após a sua morte, na Assembleia Nacional. «Infelizes aqueles cuja política não está ordenada de modo que os homens de raro valor possam servir a Nação! Responsável pela nossa, não estava por mim disposto a sacrificá-lo mais. Deus o levou. Curvo-me ante a Sua vontade.»
Duarte Pacheco aceita tudo, atira-se a tudo com uma energia, uma determinação, incríveis. Nada o detém. Trabalha de dia e de noite, dobra centenas de quilómetros sem se deter (chega a ser mandado parar pela polícia, por excesso de velocidade), sentado no banco detrás do luxuoso automóvel conduzido por Joaquim Marques, motorista seleccionado por si.
Solitário, foge da solidão e das inquietações. Adia sempre a hora de ir para casa, de ficar só, de deitar-se. Apenas o faz quando o corpo está exausto, o espírito dormente.
A vertigem é a sua heroína. Vertigem no falar, no gesticular, no trabalhar, no mexer-se, no mexer. O horror das paragens torna-se-lhe insuportável. «Mais depressa, mais depressa», repete para os colaboradores, para o motorista, para si próprio, para a vida.
Passa, passeia pelas obras como uma vedeta pelos proscénios, rápido e teatral, pomposo e petulante, entra nos gabinetes como num camarim, nos estaleiros como num estúdio.
«Os biógrafos referem-lhe a média de cinco horas de descanso diário. Aposto», escreve o arquitecto Manuel Graça Dias, «que uma hora era dedicada à sua figura, à escolha do alfinete de gravata, dos botões de punho, ao passear do pente que atirava o cabelo para trás, ao colete posto ao sabor da vontade ou do humor.»
Caprichoso, metediço, vai uma manhã à doca de Alcântara bisbilhotar os painéis que Almada está a pintar. Não os percebe. Escandalizado, corre a fazer queixas a Salazar.
«Salazar chamou então o meu marido e pediu-lhe para ir ver o que se passava», conta-me Fernanda de Castro. «O meu marido, que acompanhava com todo o interesse o trabalho do Almada, foi. No regresso disse-lhe: "Senhor Presidente, os painéis são magníficos, magníficos!" Salazar repetiu: "Tem a certeza? Tem mesmo a certeza? Se se responsabiliza por eles, eles ficam!" Ficaram. Não sei se o Duarte Pacheco chegou a saber disto. Em matéria de artes plásticas não se mostrava nada evoluído.»
Duarte Pacheco e António Ferro foram os primeiros colaboradores do presidente do Conselho a tentar sensibilizá-lo para o problema da Censura Prévia. Duarte Pacheco porque sentia a sua acção diminuída por ela, António Ferro porque a sabia amputadora da criatividade e da comunicação.
Sem resultado. Duarte Pacheco encolheu os ombros (António Ferro ficou cabisbaixo) e seguiu em frente. Aprendeu a criar factos suficientemente fortes para provocarem, por si, impacto na opinião pública.
Aos que se lhe queixam da falta de liberdade de expressão, Salazar desfia a «teoria dos tijolos»: «O problema não está na divulgação dos factos, isso não tem muita importância. O problema está em que fazê-lo é abrir precedentes perigosíssimos, é como que tirar tijolos de uma parede. Hoje um, amanhã outro, depois outro, quando se dá pelo vazio, o muro está no chão», pormenoriza.
E contrapõe: «Um órgão de comunicação, que é um alimento espiritual do povo, deve ser fiscalizado como todos os alimentos. Compreendo que essa fiscalização irrite os jornalistas, porque não é feita por eles, porque se entrega esse policiamento à Censura, que também pode ser apaixonada, por ser humana, e que significará, sempre, para quem escreve, opressão e despotismo. Eu próprio já fui vítima da Censura e confesso que me magoei, que me irritei, que cheguei a ter pensamentos revolucionários.»
Os jornais de actualidades cinematográficas substituíam com ênfase as televisões ainda inexistentes, dando grande popularidade aos eventos em curso. Os documentários de António Lopes Ribeiro eram, por exemplo, notáveis nisso.
«Caixotes de Moscovo e de Munique» (referência à arquitectura comunista e nazi) chamavam com desdém os tradicionalistas aos edifícios da época. Predominava neles a arte deco, realçada por linhas verticais, volumes geométricos, betão armado, baixos-relevos, pavimentos de madeira e mármore.
A morte do ministro, o fim da guerra e da década de 40, irão soltar o trabalho dos projectistas portugueses, esbatendo a estandardização do estilo imposto — que se torna alvo de contestações generalizadas. Um dos arquitectos que mais trabalharam para Duarte Pacheco dirá depois que ele não passava de um «enormíssimo patego».
Anarquistas, comunistas, socialistas, não passam, para o ditador, de encarnações do Mal — a recuperar ou a eliminar. Essa é a sua guerra santa, a sua cruzada estendida na penumbra das antecâmaras administrativas, censórias, policiais, judiciais, prisionais. As masmorras da PIDE equivalem às piras da Inquisição
As tentativas desenvolvidas antes do Estado Novo de fazer avançar o País, como as dos liberais no século XIX e as dos republicanos no XX, acabam traídas. Em 900 anos de existência, Portugal não consegue, até então, 90 de liberdade.
Os actos de inovação artística, de ousadia cultural, vêem-se neutralizados. O regime revela-se definitivamente contrário à modernidade e à universalidade, ao desenvolvimento e à experimentação, à diferença e ao pluralismo.
António Ferro afasta-se, desiludido, em 1949. Henrique Galvão é processado, e mais tarde preso, por criticar a Assembleia Nacional. Marchas da fome explodem no Alentejo. Soeiro Pereira Gomes morre na clandestinidade. Os clandestinos (os fugidos à cadeia, ao exílio, ao desterro, à polícia) povoam o outro lado desses anos, o lado dos silêncios, das sombras, da solidão, da resistência. Movimentam-se de noite, quase sempre a pé, e acolhem-se aos subúrbios mais incaracterísticos da capital.
Quase todos os dirigentes do PCP encontravam-se na clandestinidade. «Havia dezenas de pessoas nessa situação», relata-me Fernando Piteira Santos. «Passei alguns anos assim, até que três polícias, de pistola na mão, me prenderam ao chegar à casa onde pernoitava, numa azinhaga de Lisboa. Fui metido num curro, no Aljube. A clandestinidade é muito dura, como não tínhamos, por exemplo, senhas de racionamento passávamos muita fome. Éramos obrigados a cortar com a família, com os amigos, a viver sob nomes falsos, a não utilizar transportes públicos. Não víamos, claro, nem cinema, nem teatro, apenas a leitura e a rádio nos serviam de escape.»
Um jovem valente
Aluno, na altura, de Letras, Mário Soares é uma figura que começa a destacar-se na oposição. Organiza manifestações de regozijo pela vitória dos Aliados, impulsiona e dirige o MUD Juvenil (Movimento de Unidade Democrática), acompanha conspirações e revoltas, greves e campanhas eleitorais, como a de Norton de Matos, em 1949, e a de Humberto Delgado, em 1958. Preso (pela terceira vez), casa com Maria Barroso nas instalações do Aljube.
«Mário Soares revelou-se um jovem muito valente. Só de uma vez esteve oito dias de estátua, que era um tipo de tortura que a PIDE fazia nos interrogatórios», testemunha-me Vasco da Gama Fernandes. «Ia para o meu escritório na Rua do Ouro, que depois foi dele também, e para o do Gustavo Soromenho.
«Os escritórios dos advogados tornaram-se lugares onde se conspirava, onde a polícia não tinha acesso. Como os consultórios dos médicos. Eu conspirei toda a vida. Como sabia que só era possível deitar abaixo Salazar com a intervenção dos militares, conspirei sempre com eles. Fui preso doze vezes, mas por pouco tempo, e nunca por ter feito nada de concreto. Só por desconfiança, por denúncia. Éramos muito poucos, mas muito activos e descarados. A polícia pensava que éramos mais... o público, esse, não sabia de nada, e o que sabia tinha medo. Não queria comprometer-se. Eu tornei-me numa espécie de profissional da revolução. Um amigo inglês contactou-nos no escritório e disse: "Vocês têm de dar um golpe de Estado e arranjar um governo." Nessa altura já se percebia que o Hitler ia perder a guerra. Pusemo-nos em acção mas a polícia prendeu-nos a todos. Eu fui para a Penitenciária, Mário Soares para o Aljube. Havia um espírito crítico entre nós muito vivo, muito maledicente. Apesar de tudo, Salazar nunca me proibiu de advogar, nem aos meus companheiros. Sabia que não éramos do PCP, nessa altura já não acreditávamos na URSS, e não nos molestava excessivamente. Tinha como que pudor, cuidado, em não fazer muitas ondas. A Espanha e Portugal não entraram na guerra devido à sua habilidade. Convenceu Franco a não alinhar com Hitler, sabia que, se o fizesse, cairiam os dois. Ele tinha unhas. A Exposição do Mundo Português, que promoveu, estava muito bem concebida, muito bem organizada, foi um grande acontecimento a nível mundial. Havia, então, objectivos que nos faziam mexer, as pessoas eram mais vivas, mais generosas, mais honradas do que hoje».
Esse é, curiosamente, o período em que Salazar desfruta de maior prestígio — internamente, as populações estão-lhe gratas por as ter livrado da guerra; externamente, os Aliados sentem-se reconhecidos pela sua firmeza. «Neste país onde tão ligeiramente se apreciam e depreciam os homens públicos, gozo de raro privilégio do respeito geral», afirma.
Salazar pretendeu «refazer» o País, pegar nos «bocados» que herdou após a Primeira República, «limpá-los», «ordená-los», «vivificá-los» de acordo com a visão que tinha deles, tinha para eles.
Dividiu Portugal em corpo, alma e espírito, e a cada uma das partes deu um programa e um executor. Duarte Pacheco ficou com a primeira, Gonçalves Cerejeira com a segunda, António Ferro com a terceira.
«Seja verdadeiro. Defenda o essencial. Proteja o Espírito. Não gaste muito», ordenou, ao empossar o último.
António Ferro, misto de criador e empreendedor, tomou a incumbência com paixão. Um povo que pensa sistematicamente mal de si próprio, dizia-lhe Pessoa, acaba por transformar-se naquilo que pensa. Era preciso, assim, fazer pensar o contrário.
«Ambiciono edificar um Portugal desempoeirado, um Portugal de alma antiga e de sensibilidade nova», exclama. Para isso, «não posso discriminar nem abandonar os criadores. A arte viva presta-se mais à divulgação das coisas do que a morta», sublinha. «Para conhecer um povo é preciso conhecer a sua literatura, o seu teatro, o seu cinema, as suas artes plásticas, etc, isto é, é preciso ir ao teatro, ao cinema, às exposições, é preciso, sobretudo, comprar livros. Gastar dinheiro na cultura é ganhar dinheiro porque é enriquecer a Nação. A literatura e a arte são os cartões-de-visita dos povos que desejam ter um nome.»
A multiplicação de prémios literários e artísticos (de valor considerável) visa recompensar monetariamente os autores portugueses, sempre tão desprezados pelos poderes.
O lançamento de bibliotecas, a edição de livros e de boletins, o subsídio a companhias de teatro popular, a grupos de folclore e bailado (o Verde Gaio será um êxito), a cinemas ambulantes e circos, a pousadas, a feiras, a exposições, a percursos, a estruturas turísticas, tornam-se então reais.
A «Política do Espírito» (designação inspirada no poeta Paul Valéry) do Estado Novo responderá a oposição marxista com o neo-realismo (que conhece grande impacto no romance), e a oposição anarquista com o surrealismo — que atinge notável intencionalidade na poesia.
A convite de Salazar, e na sequência de uma série de entrevistas para o Diário de Notícias, António Ferro dirige o Secretariado de Propaganda Nacional, mais tarde SNI, até finais da década de 40.
«A partir da Segunda Guerra, o meu marido quis deixar tudo», pormenoriza-me Fernanda de Castro, «e ir para um sítio calmo. Foi para a Suíça e depois para Itália, como embaixador. Acompanhei-o. Vivíamos perto do Coliseu, mas não nos sentíamos bem, havia muitas forças negativas no local, muitos espíritos adversos. Penso que foi tomado por eles. O médico preveniu-o de que o seu coração não ia aguentar. Não aguentou.
Morreu de um pós-operatório à vesícula, no Hospital de São José, em Lisboa, aos 61 anos. Era um homem com muito bom feitio, o mais imaginativo, o mais avançado de nós, o que mais se divertia entre nós. Escolheram-no para editar o Orfeu porque, sendo menor, não podia ser preso pelos calotes da revista. E foram tantos que só saíram dois números!»
Eram épocas, essas, de notáveis figuras femininas, que Salazar acompanhava à distância — gostava especialmente do porte senhoril de Amélia Rey Colaço e da tranquilidade vibrante de Fernanda de Castro.
Estrela Faria, Ester Leão, Palmira Bastos, Maria Archer, Guilhermina Suggia, Ana de Castro Osório, Virgínia de Castro e Almeida, Sesina Bermudes, Elina Guimarães, Carolina Homem Cristo, Maria Adelaide Lima, Maria da Graça Athayde, Maria Lamas, Maria Keil, Matilde Rosa Araújo, Natércia Freire, condessa do Cadaval, Natália Correia, Amália Rodrigues, Vera Lagoa, Vieira da Silva, Beatriz Costa fizeram-se, então, referências.
«Ele ouvia muito o meu marido», acrescenta a viúva de António Ferro. «Isso acarretava-lhe a inveja dos ministros. Faziam-lhe guerras permanentes. Quando levou, por exemplo, a Amália a Paris pela primeira vez, no 10 de Junho, foram atazaná-lo: parece impossível, levar uma fadista a representar Portugal, coisas assim. Havia então muita, muita intriga.»
Apaixonou-se por ele
Salazar não gosta de expor-se aos outros — nem a si próprio. Sabe, no entanto, que necessita de popularizar uma imagem forte, densa, superior, que preencha o vazio da sua incomunicabilidade, a insegurança da sua timidez.
Em Itália, Mussolini, na Alemanha, Hitler, na União Soviética, Estaline, na Grã-Bretanha, Churchill, irão ser figuras quentes, apaixonadas, deuses para as massas idolatrarem e seguirem.
António Ferro surge no momento exacto. Com talento, com eficácia, encena-lhe, a partir das suas características naturais, uma personagem, um espaço, um regime, uma cultura, que o
projectarão para sempre.
O ditador perguntou-lhe, um dia, que ideia fazia sobre o que ele pensava para os portugueses. E Ferro respondeu-lhe:
«A sua aspiração é modificar pouco a pouco a nossa mentalidade, fazendo parar as paixões dos homens, atrofiando-as, calando-as, forçando-os a um ritmo vagaroso que lhes faça descer a temperatura, que os cure da febre.»
Só muito mais tarde perceberá que o Salazar por quem terçou armas não existia, fora uma invenção sua. «O meu marido aderiu ao salazarismo porque se apaixonou por Salazar. Se Salazar fosse de esquerda, ele tinha sido também de esquerda. Quando a gente se apaixona deixa de ver a dimensão real do objecto amado. Só vê o que gosta de ver», ainda Fernanda de Castro.
Agastado com os arroubos, os excessos, os caprichos, de Ferro, o primeiro-ministro deixa-o afastar-se. O panorama cultural do País mudara entretanto, escapando à influência dúplice do titular do Secretariado da Propaganda.
O presidente do Conselho achava que ele confundia «o essencial da civilização» com «o acessório das aparências brilhantes e enganosas»; receava que António Ferro o transformasse, e ao Estado Novo, num delírio, descaracterizando-os no subjectivismo vertiginoso da sua propaganda.
Foi, no entanto, essa fragrância de fantasia que deu aos dois (Salazar e Estado Novo) a tessitura que têm na História.
«O meu pai presidiu ao júri que examinou Salazar em Coimbra. Conheci-o bastante bem», descreve-me Luís de Oliveira Guimarães. «Tinha grandes qualidades e grandes defeitos. Quando passou a ministrar lições de Finanças, eu faltava às aulas, como muitos outros, para ir ouvi-lo. Era um belo professor. Aprendi coisas que me têm servido pela vida fora. Por exemplo: a renda de casa de uma pessoa nunca deve ser superior a um sexto do seu vencimento. Nessa altura não era. O meu primeiro ordenado de magistrado andava pelos 930 escudos e a renda de casa pelos 18 escudos. Salazar dava, aliás, muitos conselhos, à margem das matérias, sobre poupança. Era, no entanto, muito intransigente. O contrário de Cerejeira, que foi sempre dialogante. Relacionei-me bem com ele. Juntávamo-nos todas as tardes na Pastelaria Central, o Salazar aparecia, dava dois dedos de cavaco mas não se sentava. Não nos prestava grande atenção. Achava o Cerejeira um bocado rapioqueiro, embora fossem amigos. O cardeal era excepcionalmente culto, lia muito, gostava muito de literatura. Os grandes escritores de então eram o Junqueiro, o Dantas, o Carlos Malheiro Dias. Continuei a encontrar-me com eles, sobretudo com o Cerejeira. Tornei-me visita regular do Patriarcado. O Salazar, via-o só de longe em longe. Não era muito inclinado a convívios. Procurei-o quando do assalto à Sociedade Portuguesa de Escritores.
A PIDE preparava-se para assaltar também, e destruir, a Sociedade Portuguesa de Autores, a que eu pertencia. Fui falar com ele. Dirigi-me a São Bento, toquei e atendeu-me a governanta. A Maria de Jesus nascera na minha terra, familiares seus chegaram a trabalhar na minha casa, que era conhecida pela Quinta do Castelo. A mim chamavam-me o menino do Castelo. Ao ver-me à porta, já não nos encontrávamos há anos, fez uma grande festa e foi para dentro. Ouvi-a então dizer ao Salazar: "Está ali o menino do Castelo para falar com o senhor doutor." Salazar ficou intrigado e veio. Lá conversámos. A SPA não foi molestada.»
Revela-se antiga a tradição de os escritores portugueses andarem, sem apoios, pelas terras de província (mal toleradas pelos poderes) em contactos de convívio e diálogo. Amputados, então, pela Censura Prévia, os jornais não exprimiam as realidades profundas das populações. Eram os romances que o faziam, com tiragens de dezenas de milhares de exemplares, levados uns pelas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, outros pelas estruturas clandestinas da oposição.
Ferreira de Castro, Soeiro Pereira Gomes, Alves Redol, Manuel da Fonseca, Fernando Namora, Urbano Tavares Rodrigues, Luiz Francisco Rebello, Bernardo Santareno, Romeu Correia, José Saramago, Faure da Rosa, Mário Ventura, Baptista-Bastos, assumiram, por exemplo, papéis, na altura, decisivos.
Encontrava-me com Ferreira de Castro depois de almoço, na Veneza, pastelaria da Avenida da Liberdade. Assis Esperança era-lhe uma companhia diária, quase um «duplo» nas palavras, nas ilusões, nas ironias, nas fantasias.
«Este café é um pouco a minha casa. Há anos, sempre que estou em Lisboa, que aqui venho.» Sereno, imperturbável, o autor de A Selva conversava por igual com quem se lhe sentasse à mesa, se lhe dirigisse na rua, o questionasse em conferências, o abordasse em livrarias. Ouvia, e fazia ouvir-se, sem esforço, sem enfado, fato e gravata cinzentos, chapéu na cabeça, imaginação na distância, bondade no coração.
O êxito dos seus romances, verdadeiros best-sellers mundiais, tornou-o o primeiro escritor de língua portuguesa candidatado (por proposta do Brasil) ao Nobel da Literatura.
«Não o terei, evidentemente, mas fica-me uma infinita gratidão pelos que me apoiaram nesse sonho», comentar-me-á com bonomia. «O que eu desejava ser, o que comecei a sonhar aos nove anos, a vida permitiu-me realizá-lo, mas ao cabo de tantos sofrimentos que não gosto de falar neles.»
A meio da tarde, Ferreira de Castro levantava-se, subia a rua, chalaceava (quando a via, à passagem pelo Tivoli) com Beatriz Costa e, sempre a pé, sempre devagar, sempre afectuoso, rodeava a Praça Marquês de Pombal sumindo-se num pequeno hotel (onde se resguardava com a mulher, a pintora Helena Muriel), trocado frequentemente por Sintra. Em Sintra estão, aliás, o seu museu e as suas cinzas.
A Alves Redol conheci-o nos meados da década de 60. Baixo, magro, cara angulosa, mãos e olhos esvoaçantes, dirigia uma agência de publicidade em Lisboa e morava numa vivenda de trepadeiras em Caxias. «Escolhi esta casa para ficar mais perto dos que estão presos no Forte», afirmou-me, «para os poder acompanhar espiritualmente.»
Os fins-de-semana passava-os em Vila Franca de Xira, sua terra natal. Metia o «boca de sapo» na garagem, envergava uma camisa de pescador e deambulava, com indizível paixão, pelos locais e pessoas da juventude.
«O meu avô paterno era ferreiro e o materno campino», contava. «A infância foi-me carregando de mortos, sobretudo mortos por tuberculose, então uma doença terrível. Por isso eu queria ser médico, para lutar contra ela. Tive, porém, de começar a trabalhar como marçano. Quando frequentava o curso comercial, descobri a escrita. O meu pai tornara-se, entretanto, correspondente local do Diário de Notícias. Cedo contactei com os seus enviados às feiras do Ribatejo. A minha paixão pelos jornais surgiu dessa maneira. Aos 16 anos embarquei para Luanda. África foi um deslumbramento, foi a minha universidade. Dava aulas de taquigrafia, fui funcionário público, fiz publicidade. Três anos depois, uma doença obrigou-me a regressar. Publiquei o primeiro livro aos 26 anos, editado por mim. O Rodrigues Lapa deu-me uma secção no Diabo. Encarei a escrita como um boxeur encara um combate. Fiz-me amigo de muitos jogadores de boxe, achava, aliás, muito parecidas as duas actividades. Fui eu quem incentivou o Soeiro Pereira Gomes a publicar os Esteiros. Nós, escritores, somos como que cronistas do rei, só que o nosso príncipe chama-se Povo. É-me muito doloroso escrever. Fisicamente até. Nas primeiras páginas sinto a sensação de me arrastar sobre um caminho de pedras e espinhos. Depois, torna-se mais fácil, entusiasmante, como se descesse uma montanha. Tenho, como pessoa, um grão incontido de loucura!»
Lisboa dos anos 40 parecia feita de risos, de canções, de quermesses, de costureirinhas audazes, de récitas esfuziantes, de tias abastadas de província, a província paraíso ainda não perdido — como a África.
António Silva e Vasco Santana normalizavam o absurdo sob gargalhadas de delírio; Beatriz Costa corroía os sonhos dos adolescentes, o País era um cenário, a realidade uma fantasia.
Os portugueses riam no cinema, na rádio, na revista, nos cafés, nas marchas, enquanto a Europa, o lá fora, se decompunha e recompunha em cascatas de hecatombe. Delas, Europa e hecatombe, chegavam notícias pelos jornais, pelas emissões da BBC, pelos refugiados, e chegavam crianças órfãs, e judeus fugidos ao extermínio, e espiões cinematográficos, e chegavam propagandas (alemã e inglesa) com efeitos desmesurados.
Adormecidos pelo sol (pela Censura, pela propaganda], substituíamos a crítica pela pilhéria, a dignidade pelo petisco (de mesa, de cama, de compadrio, de negócio), substituíamos, cantando e rindo, a liberdade pela imaginação dela.
Poucas vezes se riu tanto como então — e tão talentosamente. «O sermos uma ilha de paz num mundo em guerra exacerbou-nos», anotar-me-á António Lopes Ribeiro, «fez-nos agarrar ao humor como a uma bóia de salvação.» Como uma fuga à demência.
Pouca coisa faz sentido nesse tempo — um tempo que escarninha da sua própria impotência, que cerra fileiras pelo império (defendido pelo Governo e pela oposição), que acrescenta aos nossos signos o galo de Barcelos, o Portugal dos Pequenitos, a aldeia de Monsanto (a mais genuína do território), o Estádio Nacional (o maior da Europa), a casa portuguesa («Quatro paredes caiadas / Um cheirinho a alecrim / Um cacho de uvas doiradas / Duas rosas num jardim»), as exaltações patrióticas («São marinheiros /aventureiros/ mais uma vez/que vão mostrar/ como este mar/ é português»).
A alteração dos costumes, influenciados pelos estrangeiros em trânsito (judias da alta sociedade europeia fugidas à catástrofe nazi), provoca escândalos na pequena burguesia, que abre a boca de espanto com os seus decotes, fatos de banho, danças, liberdades, amores, caprichos.
A realeza escapada às repúblicas, o capital às nacionalizações, instalam-se nos Estoris com séquitos de luxo e luxúria. Os snobes do regime salamalecam à volta. O swing faz moda.
Uma peixeira (Hermínia Silva) provoca a hilaridade rasca: «Tenho petit-grises e toilettes de Paris/ Sei franciú e je me dou com outra gente/ Que me estende a pata quando vou ao Tamariz.»
O Diário do Governo de 5 de Maio de 1941 arauta: «Nos termos da Constituição, compete ao Estado zelar pela moral pública e tomar todas as providências no sentido de evitar a corrupção dos costumes. Factos ocorridos na última época balnear mostraram a necessidade de se estabelecer, com a precisão possível, as normas adequadas à salvaguarda daquele mínimo de condições de decência que as concepções morais e mesmo estéticas dos povos civilizados ainda, felizmente, não dispensam.»
Fato de banho só completo, pelas coxas e pelos ombros, para as mulheres, de duas peças, largos os calções, peitilho ou camisola, para os homens; nas igrejas, os padres tentam demover as pessoas de ir às praias (por imorais) e às festas populares (por pagãs).
Ignorando-os, as espanholas dominam nos cabarés (o Cristal, o Nina, o Arcádia, o Miami), nos corpos de baile, nas esplanadas, nos quartos. Provocam paixões e tragédias, ruínas e fugas — e operetas.
«Não se meta com espanholas / Menino da moda / Porque ao som das castanholas / Rebentam-lhe com a massa toda / Se tu não souberes ser homem / Cautela, filhinho / No final ainda te comem / Por trouxa ou por injinho», gargalha Mirita Casimiro em A Invasão.
Homem de exuberante poder improvisador, Vasco Santana compra todas as tardes o Diário de Lisboa e o República. Horas depois, no palco, os acontecimentos do dia tornam-se-lhe pretexto para buchas de irrecusável intencionalidade. O riso, uma vez mais, subverte a Censura.
O riso e a noite ligam-se de maneira inesquecível. O convívio, a alegria, o sonho, a vertigem, rompem nos cafés, nas ruas, nos teatros, nos jornais, nas ceias, nas tertúlias, nas conspirações, até ao raiar do Sol no horizonte e do cacau na Ribeira.
«Havia como que o culto da gargalhada, o querer tornar tudo lúdico», observa-me Fernando Curado Ribeiro, ídolo de filmes e canções. «Era como que um escape para alijar a carga que nos submetia. O non sense tornava-se aceite por todos. Os salazaristas diziam que quem não fosse por Salazar era comunista, os padres diziam que os comunistas davam injecções nos velhos e comiam crianças, ninguém se espantava com nada. Era um período muito estranho.»
Mãos exultantes colocam em altares fotos do presidente do Governo, a quem chamam santo. Legionários gritam nas ruas: «Portugueses, quem manda?», «Salazar! Salazar!», «Portugueses, quem vive?», «Portugal, Portugal».
Pelos microfones da Emissora, ele avisa: «Politicamente só existe o que se sabe que existe, politicamente o que parece é. Felizes os que nos momentos cruciais não são obrigados a escolher.»
Brejeiro, o Parque Mayer chama-lhe, ante o gargalhar dos espectadores, Santo António, António Mestre, António da Escola, Tónio, Fogueteiro, Alfaiate Oliveira, Senhor Almeida, em rábulas interpretadas por António Silva, Vasco Santana, Teresa Gomes, Amarante.
Beatriz Costa põe o público em delírio cantarolando «Ó 31 / hoje em dia é comum / é tudo a dar / a cascar / arrear / em Portugal / é que é só conversar / falazar, falazar».
Hermínia acrescenta: «Tu levas a pasta à gente / só falas se estás de maré / tu vives sempre isolado / tu vives sempre sozinho / com o teu ar resignado / levas a água ao teu moinho.»
Mais tarde, João Villaret entoa, fazendo um inesquecível Santo Antoninho: «Quero ver o povo unido / No meu lindo Portugal / Quero-o junto e não partido / Na união tradicional» /
«Quem me engane ou contradita / Aponto no meu caderno / Vai com um cartão-de-visita / Pràs profundezas do inferno» / No céu vivo sossegado / Entre os meus queridos santinhos / Constantemente incensado / E em volta só vejo anjinhos / Com meus hábitos de frade / Sempre a vista no chão posta / É desta minha humildade / Que a corte dos santos gosta.»
O anedotário criado à volta de Salazar escarninha o País. As entrelinhas são a grande alavanca do riso nos periódicos, na telefonia, no teatro, nos cafés, nas reuniões.
Salazar, que é exigente no humor («a conversa sem objecto, palavrosa, estirada, é defeito comum em Portugal, somos um povo de conversadores inúteis»), dá directrizes no sentido de as críticas que lhe dirigem não serem cortadas: «Prefiro que as façam a mim do que aos outros. Posso bem com elas. Aliás, a simpatia do público acaba, quase sempre, por voltar-se para as vítimas.»
Admirava especialmente António Silva, cujos filmes não perdia, e Vasco Santana, sendo um ouvinte deliciado dos diálogos O Zequinha e a Lelé, do segundo, radiodifundidos pelos Companheiros da Alegria — programa que ele proibira como espectáculo ao vivo (seu formato inicial) por Igrejas Caeiro haver afirmado em entrevista que considerava Nehru o maior estadista de então.
Vasco Santana contava que uma tarde, ao atravessar a Avenida da Liberdade para o Parque Mayer, um carro negro parou junto a si e, do banco detrás, uma voz cumprimentou-o: «Muito boa tarde, senhor Zequinha!» Estupefacto, o actor viu Salazar acenar-lhe, sorrir-lhe e desaparecer-lhe.
No teatro declamado, os anos 40 conhecem a estreia de Mariana Rey Monteiro (numa Antígona cheia de indirectas ao nosso ditador, adaptada por Júlio Dantas), o surgimento dos Comediantes de Lisboa (onde se notabilizam Villaret, Lalande, Ribeirinho, Carmen Dolores, Assis Pacheco), a revelação de Maria Barroso (em Benilde ou a Virgem Mãe}, a confirmação de Eunice.
Alfredo Cortez, Júlio Dantas, Carlos Selvagem, José Régio, D. João da Câmara são autores de êxito.
Amália surge na revista e no cinema, e inicia, pelo Brasil, a sua extraordinária carreira artística. Olavo d'Eça Leal é, na rádio, uma voz de inteligência entre um conjunto de outras (Pedro Moutinho, D. João da Câmara, Igrejas Caeiro, Etelvina Lopes de Almeida, Artur Agostinho, Maria Leonor) inesquecíveis.
Em fase de irreprimível expansão, a telefonia torna-se um fascínio. Milu, cançonetista e actriz, foi um símbolo dessa rádio, rádio quente e apaixonada, pomposa e ingénua, «torneira que se abria e logo», no dizer inesquecível de António Silva, «jorrava música».
O imaginário nacional foi moldado, alimentado, por ela. Os valores da moral, da Pátria, da família, do trabalho, eram-lhe alicerces de farfalhuda convicção, sob os quais corriam, no entanto, águas de pilhéria revisteira, de irreverência anar-quizante, de brejeirice malandra.
A grandiloquência da fé e do império cruzava-se com o alarido do bairro, a picardia do reviralho. Tudo com músicas populares em fundo, canções e marchas, fados e rapsódias, guitarra e acordeão, serões para trabalhadores e desgarradas para metediços.
A Lisboa pequeno-burguesa, bairrista e marchista enchia-se de caixeirinhas, telefonistas, dactilógrafas, que suspiravam, não por príncipes encantados, mas por galãs românticos — do cinema, da rádio, da canção, do teatro, do toureio, do desporto.
Revelou-se um período de oiro deles, para eles: Artur Semedo, António Vilar, Virgílio Teixeira, Fernando Curado Ribeiro, Alberto Ribeiro, Francisco José, Toni de Matos, Pedro Moutinho, Igrejas Caeiro, Henrique Mendes, Manuel dos Santos, Diamantino Viseu, Alves Barbosa.
Artur Semedo incendiava corações e camas — de adolescentes e adultos, coristas e aristocratas, mulheres e homens — por igual, por atacado. O seu olhar provocador, a sua voz entranhada, a sua ironia libertina, aureolaram-no como uma das figuras mais envolventes e pitorescas dessas gerações.
«Foi um tempo muito engraçado, a vida era muito intensa, sobretudo do ponto de vista cultural. Havia realizações de cinema, de teatro, de pintura, havia os neo-realistas, os surrealistas... convivi com todos desde muito cedo, o Alves Redol foi o padrinho do meu filho, o José Saramago aprendeu a rir comigo.
Um dia disse-lhe: "Tu tens de rir, não há razão nenhuma para não rires." E ele começou a rir. Tem, aliás, bons dentes para isso.»
Durante décadas, Artur Semedo foi um dos galãs («adorava ser galã, sobretudo vestir bem») de maior projecção. Soltou comportamentos, subverteu costumes, fez moda. «Eu é que ditava a moda, como a do despenteado, a da barba por fazer... excitava as mulheres. Às vezes tinha chatices. O marido de uma disse que ia viajar e não viajou. Estávamos muito bem deitados quando ela gritou "ai que estão a meter a chave à porta". Eu agarro na roupa e escondo-me. Antes que ele me visse arriei-lhe, toma, toma, dei-lhe duas caroladas que o deixaram estendido. Depois saí. Tornei-me especialista nisso. Quando me surpreendiam raspava-me, os tipos ficavam a dormir e elas acordadas, a acordá-los. Um dia tive que despachar um polícia... meteu-se comigo e com uma senhora italiana com quem eu estava dentro do carro para os lados de Cabo Ruivo. Quis-nos prender e levar para a esquadra. Eu identifiquei-me, contei-lhe que tinha espectáculo daí a pouco, expliquei-lhe que a senhora tinha uma alta posição na sua embaixada, que era tudo muito chato, mas ele nada, não se demoveu. Bom, só há uma maneira de resolver isto. Olhei à volta, estava tudo deserto, saí do carro e zás! Uma boa cabeçada, apesar da pala do boné do tipo, deitou-o por terra. Safámo-nos assim. Diz-se muita coisa do marialvismo português, mas entre nós não se violam mulheres a sério. Os marialvas daqui são-no apenas na posição vertical, não na horizontal. Quando passam à horizontal entram na pornocracia. Eu defendia-me, sabia ultrapassar isso. Houve uma época em que quase não tinha quarto meu, não precisava. Fazia muito cinema, estava nos Comediantes de Lisboa, a notável companhia dirigida pelo Ribeirinho, ganhava muito bem, cinco contos e quinhentos por mês, um ordenadão!»
Em Espanha o seu nome impôs-se cabeça de cartaz: «A guerra civil criara uma grande falta de jovens no cinema, daí que os produtores se tivessem voltado para os actores portugueses da época, que eram muito bonitos. Alguns conseguiram boas carreiras, o António Vilar, o Virgílio Teixeira, o Carlos Otero, a Isabel de Castro, a Maria Dulce, o Barreto Poeira. Filmei muito lá. Não fiquei porque gosto do meu recanto, gosto de viver em Portugal. Preciso de olhar cada vez mais para dentro de mim. Quanto mais olho para dentro de mim, melhor vejo para fora de mim.»
As gargalhadas de Semedo ricocheteiam pelas mesas do Montecarlo. Simbolizava um tipo de português muito vivo e genuíno: o pinga-amor e pinga-irreverência, coração na boca, manha no olhar, desenrascado, quente, megalómano, dúplice, fantasista, solidário — hoje (morreu no último ano do século XX) em vias de extinção.
Com ele, o café parecia um paquete em andamento balouçado. A voz de Paulo Renato invectiva, nos bilhares, desafios avulsos; Vasco Morgado sorvia, ao balcão, goles escaldados de negócios e projectos; na zona do restaurante, Laura Alves tomava chá com amigas; numa mesa do fundo, Carlos de Oliveira pontificava, imperturbável, sobre literaturas e revoluções.
Namorados boiavam, aos pares, aos olhares, pelos corredores, enquanto jovens passeavam disponibilidades amolecidas pelo calor, pelo fastio.
A ronda dos cafés tornara-se-nos um circuito de aconchego, de revitalização. Montecarlo, Monumental, Grã-Fina, Vá-Vá, Mourisca, Smarta, Paraíso, Pilar, Coimbra, Paulistana, Alsaciana, Cister, Tentadora, Veneza, Palladium, Nicola, Suíça, Garrett, Brasileira, eram rituais tertúlicos de encontros, de conhecimentos, de convívios, de afirmações, de oposições — prolongados, madrugada fora, pelo Estábulo, pelo Rei Mar, pelo Z, pelo Snob, pelo Botequim.
Salazar conhecia em pormenor, deleitando-se a falar nela, a história do cinema no nosso País. País que foi um dos primeiros a assumirem a nova (sétima) arte, a produzi-la, a exibi-la: Aniki-Bobó , O Pai Tirano, Camões, O Pátio das Cantigas, Amor de Perdição, A Vizinha do Lado, Frei Luís de Sousa, ficaram-lhe pedras angulares.
Intelectuais, escritores, artistas, jornalistas aderiram ao seu fascínio com veemência, caso de, entre outros, Fernando Pessoa e Florbela Espanca - que chegou a pedir a Jorge Brum do Canto para a incluir num dos seus filmes.
António Lopes Ribeiro estagiou, em 1923 em Moscovo, onde trabalhou, afirmava-me, com Eisenstein. No regresso, trouxe várias películas russas que obtiveram grande êxito em Lisboa.
A primeira exibição decorreu há mais de 100 anos, no Real Coliseu, da Rua da Palma, ante o espanto e o delírio de cerca de 200 pessoas. Três meses depois, um jovem do Porto, Aurélio da Paz dos Reis, rodou documentários sobre actividades populares, estreados no Teatro do Príncipe Real. O nosso País tornava-se o quarto do mundo a descobrir o cinema — e a apaixonar-se por ele.
Amodorrada, no começo de Junho de 1896, pelo calor de um Verão antecipado e pela monotonia de uma política descolorida, Lisboa viu com surpresa as gazetas noticiarem a apresentação de uma máquina revolucionária, projectora de «imagens vivas», não de sequências fixas como as lanternas mágicas.
A nova correu pelos cafés e teatros, os grandes centros, então, de convívio, sobrepondo-se às informações sobre a chegada da rainha, a banhos em São Pedro do Sul, com os principezinhos, sobre a partida, no Kanzler, de uma companhia de cavalaria para ajudar Mouzinho na domesticação dos gentios de Moçambique, sobre o despacho de 6000 litros de vinho para as tropas coloniais, sobre a morte, num hotel de Madrid, do senhor embaixador conde de Cazal Ribeiro.
Os espectáculos em cartaz nos teatros, mais de 20 (a grande sensação era o da Barraca Africana, com as suas figuras de cera representando a prisão de Gungunhana), cediam lugar, nas atenções do público e da imprensa, à súbita novidade trazida por Edwin Rousby, um electricista de Budapeste contratado pelo empresário Santos Júnior.
O êxito fez-se, vencidas algumas dificuldades técnicas iniciais, estrondoso. Por 100 réis, o público via O Baile Parisiense, A Ponte Nova de Paris, o Comboio, uma erótica Dança Serpetina e, como complemento, as comédias Creado Brioso e As Bengalas, interpretadas por Joaquim d 'Almeida, e cançonetas por Mercedes Blasco.
O público mais popular não se conteve na sua excitação. E, no dia seguinte, o jornal A Chacota versejava, brejeiro:
«Com aquela escuridão/ Que para lá se fazia / Com certeza que por lá / Tudo fez o que podia.»
O Repórter era mais objectivo: «O real Coliseu afirmou-se o grande foco de atracção. A sua enorme sala povoa-se de um público ávido de admirar uma das mais assombrosas conquistas da electrónica sobre a fotografia.»
Membros da família real e do Governo não se contiveram a ir, discretamente, espreitar o fenómeno.
Quando Salazar saboreia a chegada ao poder e Manuel de Oliveira a estreia de Douro, Faina Fluvial, Aurélio da Paz dos Reis morre, aos 69 anos, de doença indeterminada. Os jornais, que lhe dão escassas linhas de circunstância, preferem destacar a projecção, para os participantes de um congresso de críticos (Pirandello está presente) organizado por António Ferro, das películas (que o presidente do Conselho vira, curioso, numa projecção privada) Alfama, de João de Sá, Nazaré-Praia de Pescadores e A Severa, de Leitão de Barros.
Outros nomes destacam-se, entretanto (Francisco Pinto Moreira rodara, antes de Agosto de 1896, cenas sobre motivos nacionais), na nossa cinematografia. Exibidores tornam-se também produtores, operadores e realizadores. Manuel Maria da Costa Veiga é o mais conhecido. Passa a operar no Coliseu dos Recreios, no Salão Avenida, no Éden, nos Armazéns do Chiado, na Esplanada D. Luís, em Cascais. Nesta estância balnear faz um documentário sobre as férias do rei D. Carlos, que filma em fato de banho, na praia e a nadar. A sua objectiva captará, aliás, imagens de todos os grandes acontecimentos da época.
A ele se deve a fundação, em Algés, da Portugal Film.
Em paralelo, João Freire Correia cria a Portugália Film que se inicia (1904) com uma pequena película extraída do sketch da revista Ó da Guarda!, interpretado por Carlos Leal. Mouzinho e Paiva Couceiro, os heróis de África na altura, protagonizam diversos documentários.
A propaganda política da República começa a aproveitar-se do cinema. Diversos documentários são efectuados durante a Primeira Guerra Mundial, em Angola e Moçambique. As Forças Armadas criam mesmo um departamento próprio, os Serviços Cinematográficos do Exército, que farão uma notável acção propagandística do colonialismo.
O primeiro cinema construído de raiz (na Rua do Loreto) recebe o nome de Salão Ideal. Os Crimes de Diogo Alves, dirigidos por João Tavares, em 1911, são a primeira ficção de fundo. Custou 200 escudos. Júlio Costa produz e realiza a comédia Chanceler Atraiçoado e o drama Rainha depois de Morta, com Eduardo Brasão e (o estreante) António Silva.
Na segunda década do século aparece o cinema falado. Actores escondidos atrás do ecrã, invisíveis pelo público, interpretam os diálogos das personagens da película. A maior parte das vezes o que se ouvia não coincidia com o que se via, eles falavam para um lado e as imagens fugiam para outro. Depois passou a haver orquestras que improvisavam sequências musicais de acordo com a acção da história, acompanhadas por efeitos sonoros, como canhões a disparar e cavalos a correr.
Falências e incêndios desmoronam as estruturas criadas em Lisboa. O Porto volta a afirmar-se: em 1912 lança a primeira publicação cinematográfica, a Cine-Revista, e, em 1918, constrói a Invicta Film. «Romance português, filme português, cenas portuguesas, artistas portugueses» é o seu lema. Frei Bonifácio, Rosa do Adro, O Comissário de Polícia, Os Fidalgos da Casa Mourisca, Amor de Perdição, Mulheres da Beira, O Destino (o único interpretado por Palmira Bastos) tornam-se exemplares.
Ao pretender, nos anos 20, fabricar obras de estilo inter-nacionalista, para o mercado externo, a Invicta descaracteriza-se e banaliza-se. Sem alma, sem vibração, os seus filmes perdem a identidade e soçobram.
A Ibéria Film, igualmente surgida no Norte, produz (1923) aquele que é considerado um dos nossos melhores filmes: Os Lobos. A realização pertence a Rino Lupo. Vários países compram-no. Lusa Films, Caldevilla Films, Fortuna Films (da escritora Virgínia de Castro e Almeida), Pátria Film, Enigma Films, são outras produtoras a aparecer e a desaparecer, constituindo-se, à sua maneira, legendas de um património riquíssimo e originalíssimo. Que o Estado Novo recuperará e relançará — enquanto teve necessidades de afirmação.
O surrealismo emerge nas mesas do Gelo, café, o neo-realismo comove o País (Redol, Pereira Gomes, Manuel da Fonseca, José Gomes Ferreira, Mário Dionísio), país de camponeses, de operários, de desempregados, de fome, de solidão, de lutas sociais, de greves reprimidas, de desterros políticos, o riso contra o silêncio, a música contra a desistência.
Recém-chegado à literatura, Carlos de Oliveira exorta: «Vivam a vossa vida doutra maneira, encham-na de sonho.»
Miguel Torga inicia os Diários, Augusto Abelaira publica Cidade das Flores, Natália Correia, Rio de Nuvens, Vitorino Nemésio, Mau Tempo no Canal, José Régio, O Fado, Vergílio Ferreira, Vagão J, Sofia de Mello Breyner, Poesia, Ferreira de Castro, A Lã e a Neve, Aquilino Ribeiro, Volfrâmio, Agustina Bessa-Luís, O Mundo Fechado, José Cardoso Pires, Os Caminheiros.
Genial e profético, Teixeira de Pascoaes (que termina, no Gatão, O Penitente) grita: «Um homem não se mata por ódio à vida, mas porque odeia a sua pessoa. Todo o suicida é um homicida procurando a vítima em si próprio — forma trágica da bissexualidade que leva ao heroísmo, ao crime, à santidade.»
Um médico português recebe (Outubro de 1949) o primeiro Prémio Nobel: Egas Moniz.
Aos poucos o sorriso esvai-se. Filmes, comédias, exposições, espectáculos, perdem vivacidade. Controlada pelo Estado, a Tobis (produtora cinematográfica) paralisa, as editoras são policiadas, o Parque Mayer esmorece. «Os assuntos possíveis são só três ou quatro», queixa-se Matos Sequeira. «Para cúmulo a pateada acabou. As plateias, arrastadas pelo conformismo, deixam de reagir. Considero este um sintoma alarmante.»
Melancólica, Irene Isidro, no auge da carreira, canta vestida de negro, «Tudo isto existe / tudo isto é triste / tudo isto é fado».
A memória mais comprida (e irónica, e manhosa, e afectuosa) do Estado Novo (de todo o século XX), foi a de Luís de Oliveira Guimarães, o «Avô Lisboa» como ele próprio gostava de se chamar, de ser chamado. Dramaturgo, cronista, jurista, conferencista, jornalista, animou redacções de jornais, camarins de teatro, gabinetes de justiça, salas de livrarias, tertúlias de cafés.
Amigo de Junqueiro e Cerejeira, de Pascoaes e Pessoa, de Dantas e Almada, de Salazar e Aquilino, tornou-se-nos um património valiosíssimo, originalíssimo. «Gostei de todas as décadas que vivi, foram muito ricas, com muitos acontecimentos», sintetiza. «A primeira conheceu o assassínio do rei e do príncipe, a segunda a implantação da República, a terceira o 28 de Maio... depois o Salazar tornou as coisas mais sossegadas. A Lisboa dessa altura mostrava-se completamente diferente da que é hoje. Os grandes pólos situavam-se na Bertrand e na Brasileira do Chiado. Nelas reuniam-se os escritores e os jornalistas, eu colaborava nos jornais escrevendo bastante sobre literatura e fazendo entrevistas. Era uma vida divertida e calma ao mesmo tempo. As pessoas conheciam-se todas umas às outras.
Um dia o director de A Manhã convidou-me oferecendo 60 000 réis por mês, uma fortuna. Tão grande que eu, o João Ameal e o António Ferro íamos jantar todos os sábados ao Tavares Rico. O Ferro chegou a perguntar-se, rindo: "O que é que vocês acham? Caso com a Fernanda de Castro ou com a Virgínia Vitorino?" Eu entendia-me bem com a Fernanda de Castro, tínhamos a mesma idade, era uma mulher enérgica, simpática, com genica, com talento, o Pessoa gostava muito dela... Morávamos nessa altura, o Pessoa e eu, em Campo de Ourique. Quando o conheci, perguntei-lhe: "Onde é que você nasceu?" "Nasci numa aldeia que tem um teatro de ópera", disse-me. "O quê, uma aldeia com um teatro de ópera? Mas que raio de aldeia é essa?" "É uma aldeia que se chama São Carlos." Era o Largo de São Carlos, no Chiado. Como pessoa o Pessoa não tinha graça nenhuma, um macambúzio que só visto. Conversávamos bastante, quer dizer, eu é que falava, ele estava quase sempre calado. Ninguém sabia, aliás, quem era o Fernando Pessoa. A glória só veio 20 e tal anos depois da sua morte. Ia para o Martinho da Arcada, trabalhava na Rua dos Fanqueiros, e eu encontrava-o lá depois de sair do Ministério da Justiça. Ele gostava de comer um ovo estrelado. Que oferecia: "É servido do meu sol frito?" Apanhávamos o eléctrico e regressávamos a casa. O bilhete custava meio tostão... mostrava-se muito poupado. De vez em quando, lia-me poemas seus. Não faziam o meu género, mas achava que tinham o seu interesse. Daí ter ajudado o Ferro a inventar um prémio para lhe dar... Como o júri de um concurso de poesia do SNI não tivesse escolhido A Mensagem, preferiu A Romaria, do padre Vasco Reis, o Ferro ficou muito pesaroso. Eu também achei que a obra do padre não valia grande coisa. Pusemo-nos então a ver se se podia criar um galardão extra, uma espécie de prémio sobresselente para o Pessoa. Lá conseguimos arranjar um de cinco contos, bastante dinheiro... O ambiente que havia tornava-se propício, pelo seu sentido de justiça, a essas situações, os cafés, os teatros, as livrarias, revelavam-se espaços abertos à solidariedade, à confraternização, à má-língua. O Chiado tornara-se uma coscuvilhice pegada! Caía lá tudo... o Aquilino (a resmungar: "Para se viver da literatura é necessário escrever um volume de 400 páginas, duas vezes por semana"), o Ferreira de Castro (a comentar aos que lhe pediam impressões sobre a volta ao mundo que acabara de fazer: "A impressão mais viva que colhi foi a de que o mundo não é redondo, como se diz, mas bicudo"), o Ramada Curto (a repetir a resposta que lhe dera a criada ao indicar-lhe uma pilha de jornais: "Vês, todos eles dizem que eu tenho talento. Que te parece?" Comentário dela: "Deixe-os falar, senhor doutor, são intrigas da política"), o António Botto (a desfazer na Pastora Império, que actuara no Apoio: "Pareceu-me que ela faria melhor se dançasse... sentada!"), a Beatriz Costa (a responder a um admirador impertinente que lhe gabava o chapéu: "Pudera, é de palha!"), o Érico Braga (a justificar o capachinho: "Ainda não estou em idade de ser careca"), o Almada (a exclamar, depois da passagem de um fortíssimo ciclone: "Foram oito séculos de vento!"). Era um nunca acabar de situações. Conheci o Pascoaes na Brasileira. Falávamos sobre vinhos, visitei-o, aliás, na sua quinta de Amarante. Convivíamos muito com o Raul Brandão. Esse sim, esse é que foi um grande escritor. Era oficial do Exército reformado em major. Uma das últimas vezes que o vi ia ele a descer a Calçada do Combro. "Então por aqui?", perguntei-lhe. "É verdade", respondeu-me. "Estou desgostosíssimo com a minha desgraça, veja lá, major reformado e sócio da Academia, não me podia acontecer pior!"»
Salazar mandou Trigo de Negreiros convidá-lo para se candidatar por Coimbra, «não precisava sequer de me inscrever», comenta, «na União Nacional. Respondi-lhe que estava mais interessado no teatro, nos jornais, etc. Ele observou: "Ah, não nos quer é acompanhar." E eu: "Quero, mas só no funeral!" O homem, era ministro do Interior, levantou-se, estava sentado à secretária, apontou-me a porta, nem se despediu de mim. Foi o diabo! Tempos depois aparece-me a filha do Guerra Junqueiro a pedir para ser o orador na inauguração da estátua do pai, na Praça de Londres. Pensei que para dar maior ênfase à coisa devia também falar um transmontano, ele era de lá, e disse-lho. Ela achou bem e convidou o Trigo de Negreiros. Fiquei aflito e contei-lhe o sucedido. Não se ralou. No dia da cerimónia chamou-nos aos dois e ordenou: "Vá lá, dêem um abraço!" Reatámos as relações».
Luís de Oliveira Guimarães foi condiscípulo de Florbela Espanca em Direito: «Mas ela nunca ia às aulas, não ligava nenhuma aos estudos, tornou-se uma vadia... penso que foi para a universidade apenas para se safar da família. Nunca fez exame nem curso nenhum. Recitava muito bem, íamos para o jardim do Campo de Santana ouvi-la. Tratava-se de uma pessoa muito interessante, muito comunicativa, com muito talento.
Casou-se mais de uma vez, dava-se mal com os maridos, acabou por se suicidar. Tragédias!»
Amigo de Junqueiro, conta: «Certa vez, o Jorge de Abreu, director de O Primeiro de Janeiro, viu-o a passear sozinho no adro de uma igreja, no Porto, onde a mulher, a Dona Filomena, uma senhora muito religiosa, tinha ido à missa. Perguntou-lhe: "Então não entra?" "Não, estou de relações cortadas com o dono da casa!" Os médicos mandaram-no depois para Lisboa, devido a uma doença dos pulmões, por causa do clima húmido do Norte. Veio para o apartamento de uma filha, em Campo de Ourique. No fim de uma visita que lhe fiz, saiu-se com esta: "Vim porque o Porto é uma adega e Lisboa uma estufa." Tinha frases lapidares. Como o Aquilino, que andava sempre em polémicas. Apanhava que se fartava. Mas respondia duro. Sabendo, porém, levá-lo convivia-se bem com ele.»
Dos políticos destaca o Presidente Carmona: «Gostei sempre dele pela sua maneira humana, criteriosa de ser. Também admirei muito o Teófilo Braga, o Manuel de Arriaga, o Teixeira Gomes, o António José de Almeida. O António José de Almeida sofria horrores com a gota. Um dia, na véspera de partir em viagem oficial ao Brasil, perguntei-lhe: "Tem coragem de ir nesse estado?" E ele, quase sem poder mexer-se: "Ora, não tem importância, é apenas uma gota mais no oceano!"»
Dos actores, a sua preferência ia para Laura Alves: «Tinha comunicabilidade, um talento espantoso. Adorei igualmente a Amélia Rey Colaço, uma mulher muito culta, determinada, e a Hermínia Silva. A Hermínia foi vedeta de uma revista minha, O Retiro dos Pacatos, que sofreu vários cortes no ensaio de censura. Ficámos descalços, aflitíssimos em vésperas de estreia. De repente tive uma ideia: "Ó Hermínia, você é capaz de cantar ópera?" E ela: "Bem, eu sei umas coisas." Então cante lá." Cantou uns bocados do Barbeiro de Sevilha e da Aída. "Estamos safos", exclamei. Rabisquei ali mesmo um número, a Fadista da Ópera. Foi um sucesso. Mas quem eu admirava realmente era a Laura Alves. Quando ela quis apresentar, o que fez com êxito apoteótico, a peça do Vasco Mendonça Alves, Meu Amor é Traiçoeiro, pediu-me para ir falar com o autor. Ele tinha tido uma paixão enorme pela lida Stichini, a criadora da personagem, e não queria que mais ninguém a interpretasse. Fui. Disse-lhe tantas, fiz-lhe tantas, que ele, para se ver livre de mim, autorizou. A Laura e o Vasco Morgado contactaram-me depois para falar na noite da estreia, para fazer uma espécie de introdução. Lá fiz. Foi simples. Lembrei-me da coincidência que havia entre os nomes do autor, do empresário e da intérprete. "Esta peça", destaquei, "reúne um autor que tem os nomes Vasco e Alves, um empresário que tem o nome Vasco e uma actriz que tem o apelido Alves. Ou seja, o autor tem o nome do empresário e o apelido da vedeta. É a unidade perfeita." Foi gargalhada geral.»
Luís de Oliveira Guimarães era um homem que gostava muito das pessoas — mas que não tinha excessivas ilusões sobre elas. Daí a postura de ambiguidade e conciliação em que se colocou na vida.
Descendente de monárquicos, dava-se com republicanos; admirador de Salazar, convivia com reviralhos; juiz de carreira, cumpliciava-se com prevaricadores — aceitando sempre os outros para lá dos seus posicionamentos ideológicos, religiosos, sexuais, estéticos, éticos.
As rupturas, os conflitos, os ódios horrorizavam-no. Por isso, não tocou, como escritor, a inquietação; não desceu, como criador, aos abismos humanos. Foi um autor de superfícies, de sueltos, de estórias, de elegâncias, de ironias, de flashs. A sua palavra (dita e escrita) fez-se, sobre o regime, a ideologia, as escolas, as gerações, as modas, ângulo no nosso convívio, na nossa afectuosidade.
Natália Correia tirou, com O Homúnculo, o sono ao ditador. Foi uma das obras contra si que mais o perturbaram. A energia, a escrita, a profundidade, a irreverência da autora impressionaram-no profundamente.
Quando a PIDE lhe foi comunicar a prisão da poetisa e a apreensão da obra, respondeu: «Retirem o livro, sim, mas não toquem nela. É uma mulher muito, muitíssimo inteligente.» Postura idêntica teve-a ao conversar com um jornalista estrangeiro sobre Aquilino: «Fale com ele. Dir-lhe-á, por certo, mal de mim, não importa. É um grande escritor.»
Fiel aos clássicos portugueses, tinha em padre António Vieira, em Manuel Bernardes, em Fernão Lopes, em Camões, referências de cabeceira
«Sou um insatisfeito mas não um descrente», exclama. «Não sou um homem compartimentado, com gavetinhas que abrem e fecham. Estou preso às ideias do passado, sinto vontade de me ir embora, não me dou com a nova mentalidade. Isto é só para safados.»
Os anos da «ilusão» diluem-se. O salazarismo enxota, por inoportunos, criadores e intelectuais, opositores e dissidentes, perde vitalidade, burocratiza-se, banaliza-se.
Nas universidades (José Marinho, Bento de Jesus Caraça, Azevedo Gomes, Pulido Valente, Fernando Fonseca, Cascão de Ansiães, Mário de Azevedo, Ruy Luís Gomes, Dias Amado, Remy Freire, Abel Salazar, Henrique de Barros, Celestino da Costa, Vitorino Magalhães Godinho), nos jornais (Cândido de Oliveira, Rocha Júnior, Eduardo Salgueiro, Jaime Brasil, Miguel Urbano Rodrigues, João do Amaral, Carlos Veiga Pereira, Maria Lamas), na rádio (Igrejas Caeiro, Etelvina Lopes de Almeida), na diplomacia (Aristides Sousa Mendes, Pedroso Lima, Armindo Monteiro, Rui Enes Ulrich), nas Forças Armadas (Norton de Matos, Sarmento Pimentel, Varela Gomes, Agatão Lança, Sousa Dias, Vassalo e Silva, Pires Falcão, Júlio Cerqueira), na Igreja (os bispos do Porto, D. António Ferreira Gomes, da Beira, D. Sebastião de Resende, de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto, de Vila Cabral, D. Eurico Dias Nogueira), na função pública, em todos os sectores as perseguições, as expulsões deflagram.
Vultos de destaque — Agostinho da Silva, António Sérgio, Jaime Cortesão, Raul Proença, Aquilino Ribeiro, Adolfo Casais Monteiro, Ruy Luís Gomes, Jorge de Sena, António Botto, Henrique Galvão, Humberto Delgado, Álvaro Salema, Pedroso Marques, Piteira Santos, Palma Inácio, Emídio Guerreiro — exilam-se, são exilados.
Do Brasil, Rodrigues Lapa acusa: «A principal preocupação dum regime despótico é deformar a alma da mocidade. Para isso lança mão das escolas e dos quartéis», e «procura impor-lhe uma educação de tipo estrangeiro, fora da sua índole. Essa educação falsa forma gerações sem grandeza, sem ideal, sem elevação, apegadas ao vício da maledicência, à descrença mórbida, às doenças venéreas. Gerações para quem a sífilis é uma glória e a caspa uma condecoração.»
Álvaro Cunhal é metido (1949), incomunicável, no Forte de Peniche, de onde se evadirá dez anos mais tarde. A PIDE prende Bento Gonçalves, Militão Ribeiro, Jaime Serra, Ruy Luís Gomes, Virgínia Moura, Maria Lamas, Areosa Feio, Dias Lourenço, e assassina Dias Coelho. Um milhão de portugueses foge a salto. A emigração clandestina faz-se êxodo — e tragédia.
Golpes, tentativas de golpes, sucedem-se, fracassam pendularmente — como o 4 de Fevereiro no Porto, o 7 de Fevereiro e o 31 de Agosto, em Lisboa, as rebeliões da Marinha Grande, da Mealhada, da Madeira, da Sé (Lisboa), de Beja, a candidatura presidencial de Humberto Delgado, os desvios do paquete Santa Maria (por Henrique Galvão) e do avião da TAP (por Palma Inácio), o pronunciamento das Caldas da Rainha.
Nas colónias, a União Indiana invade e anexa Goa, Damão e Diu; em Angola, rebenta a Guerra Colonial logo propagada à Guiné e a Moçambique. Autista, o Estado Novo roda e afunda-se.
Pulsões de crueldade
«Como é que um homem sensível e culto, probo e discreto, como Salazar, continha pulsões de crueldade, de desprezo pelos outros a ponto de determinar o seu banimento?»
Psiquiatra de renome, Eduardo Luís Cortesão responderá à pergunta e a outras afins surgidas em madrugadas do Botequim (o estudo do exercício do poder fascinava-o), com jeito persuasivo: «Os comportamentos de Salazar inscrevem-se na esfera do recalcado, do humilhado em criança e jovem. A isso junta-se uma sexualidade indefinida, contraditória, e uma crença exacerbada num desígnio superior a cumprir. Tudo agravado por orgulhos, ambições, crenças, autismos incomensuráveis.»
A sua «actuação política» assentava numa «inocência sacrificial» intocável. Todos os ditadores, à direita e à esquerda, movem-se sob álibis do género.
O presidente do Conselho não sentia, aliás, inquietações a esse respeito. A mentalidade de cruzado que o norteava absolvia-o perante si mesmo e perante os seus.
A maior parte da população sabia das engrenagens repressivas que a condicionavam — e tolerava-as.
«Os que me chamam ditador e fascista não conheceram», justificou-se certa vez a Manuel Nazaré, «os regimes de Hitler e Mussolini, não conhecem os da União Soviética, da China, de Cuba, etc. São ou ingénuos ou mal-intencionados, paciência! A polícia, quando for caso, que trate deles. Eu estou acima disso.»
Para Salazar a realidade não importava; o que importava, e por isso a conhecia profundamente, era a sua reformulação de acordo com as projecções a ficcionar-lhe — quase sempre pela força.
Acreditando-se predestinado para refundar Portugal, avançou, obstinado, incansável, sobre sentimentos e sofrimentos, em senda que se impôs estóica.
«As pessoas felizes são as que se contentam com pouco. Tal como os povos. Aliás, o chamado progresso, a industrialização intensiva, o consumismo massificado, são feitos à custa da destruição da natureza, o que representa um suicídio para a humanidade», reflecte.
Nas margens do rio por onde subiu até imergir, ficaram para sempre máscaras ensombradoras da memória, sua e nossa. São algumas delas, já que a democracia não as preservou (não abriu sequer, à parte o esboçado em Peniche, um Museu da Resistência), que aqui se convocam.
O ditador não nutre ilusões: o verdadeiro conhecimento é iniciático, de elites, não de massas. Às massas basta saber ler, escrever, contar; bastam o folclore, as procissões, o futebol, as viagens, as romarias, os cafés, a rádio e, síntese suprema, a televisão — os concursos, as revistas, as marchas, os desportos, os exotismos, os sentimentalismos da televisão.
«Se a democracia consiste no nivelamento por baixo e na recusa de admitir as desigualdades naturais; se consiste em acreditar que o poder emana das massas e que o Governo deve ser obra das massas e não das elites, então, efectivamente, creio que a democracia é uma ficção.»
Aos que estranham encontrar poucos livros na residência de São Bento, responde: «Tenho-os na cabeça, não preciso de os ter nas estantes.»
O meio-termo, «nem ditadura, nem demagogia», representa para si o melhor estilo de governar o País. Inspirando-se no corporativismo, constrói um sistema nem capitalista nem socialista, enraizadamente paternal, rural, moral. «Um povo que tenha a coragem de ser pobre é um povo invencível», enfatiza.
Os portugueses «tendem para o excesso», anota. «A História de Portugal é uma oscilação entre tirania e anarquia, os portugueses odeiam os seus chefes e atacam-nos sem mercê até derrubá-los. Somos um povo eternamente saudoso, longe das realidades por termos vivido, em certos momentos, uma realidade heróica mas falsa. Estamos demasiadamente escravizados a um ideal colectivo que gira sempre à roda de glórias passadas. O nosso passado heróico pesa de mais no nosso presente. Temos o gosto doentio do que é estrangeiro, a ignorância, ou o desprezo, do que é português. Somos um País pobre, doente, que não suporta facilmente grandes injecções de ideias novas.»
Não encontra na democracia mais do que bezerros de oiro: a permissividade, a moda, a demagogia, o desperdício, o igualitarismo, o consumismo.
«Sou profundamente antiparlamentar porque detesto os discursos ocos, palavrosos, as interpelações vistosas, vazias, a exploração das paixões. O Parlamento assusta-me. Tenho horror ao partidarismo em Portugal. Os nossos partidos formaram-se à volta de pessoas, de interesses mesquinhos, de apetites, existindo para satisfazer esses apetites e interesses», desabafa a António Ferro.
Desconcertado, este exclamará: «Salazar tem um sorriso de máscara, um sorriso que sorri de si próprio.»
Augusto de Castro tenta, através do Diário de Notícias, divulgar a ideia, aquando da morte de Carmona, da candidatura do chefe do Governo (projecto apoiado por Marcello Caetano) à Presidência da República. A Censura corta, porém, os artigos — a mando de Salazar.
Ocupar a Suprema Magistratura inibia-o. Submeter-se a campanhas eleitorais, comícios, contactos de rua, banhos de multidão, debates, colóquios, repugnava-o. Melhor era ser ele a escolher quem o haveria de escolher.
Craveiro Lopes é eleito. A sucessão deste mergulhará, anos depois, o regime na maior crise política de sempre.
Um oficial do Exército, seu íntimo colaborador e apoiante, Humberto Delgado, rebela-se e candidata-se, afirmando o compromisso de, se vencer, substituir de imediato («obviamente, demito-o») o presidente do Conselho. Multidões seguem-no, arrebatadas. O regime oscila. A campanha eleitoral tem consequências devastadoras.
Salazar chega a temer confrontações públicas e, com o desenvolvimento da situação, a queda do poder.
Previne a governanta da gravidade do que se passa pedindo-lhe para estar em condições de sair rapidamente de São Bento. «Com grande serenidade lembrou-me que eu não teria dificuldade em acolher-me», recordar-me-á Dona Maria, «na casa de amigos, já que não podíamos ir para o Vimieiro. "E o senhor doutor", perguntei-lhe? Olhou-me fixamente: "Não se preocupe." Depois proferiu palavras estranhas... "Uma pessoa como eu não se deixa subjugar, tenho tudo preparado para evitá-lo." Nunca me explicou, apesar de lhe ter perguntado, o que queria dizer.»
Ele deixava-se tomar, quando entrava em depressão, «por pulsões suicidárias fortes», evoca-me uma amiga sua, aristocrata dada às práticas do ocultismo. «Falámos várias vezes sobre isso. Entendíamos ambos que a morte era, no plano espiritual, a suprema liberdade. Se as condições de vida nos impedem um mínimo de dignidade, devemos recusá-las e retirar-nos.
Ele possuía uma aura superior que lhe dava uma notável visão panteísta. Não devia prender-se com coisas inferiores, como as da governação, que só o diminuíam. Se tivesse seguido outro caminho, fora do poder, como o do ensino e o da escrita, para os quais detinha extraordinários dotes, a sua alma ascenderia a dimensões superiores àquelas onde se encontra. Por várias vezes deu-me a entender que, se as coisas corressem mal, se fosse derrubado por um golpe, por uma revolução, saberia como proceder. Guardava consigo, bem escondidas, duas cápsulas de cianeto, que um diplomata lhe trouxera de Berlim, iguais às utilizadas por Hitler e os seus. Ninguém suspeitou da sua existência, nem Dona Maria, nem os íntimos, nem os colaboradores, nem as polícias, nem os médicos. Nunca foram localizadas. Se calhar ainda continuam em São Bento à espera de que um sucessor seu as encontre e, distraidamente, as engula.»
A poderosa máquina repressiva do regime foi posta em funcionamento contra o general — e contra os que, afoitamente, o seguiam por todo o País, por todas as gerações, por todos os estratos sociais, inclusive entre o funcionalismo público, os militares e os católicos.
Salazar contrai-se ao observar os comunistas (e não só) engolirem, submersos pela voragem popular, o «general Coca-Cola» (nome derivado do pró-americanismo de Delgado), que de início rejeitaram a favor de Arlindo Vicente.
Quando ouve, porém, aquele candidato dizer num comício que «nada existia de consistente» capaz de «suceder a 30 anos de ditadura senão um regime de força», e perguntar «se alguém tem qualquer ideia de como é que um país infantil do ponto de vista democrático, completamente amorfo, louco, sedento de liberdade, pensa que em 24 horas se podem fazer eleições gerais?», percebe que o seu antigo servidor vai perder a parada. A manipulação dos votos será suficiente.
íntimo de Aquilino Ribeiro, Santos Costa, o poderoso ministro da Defesa, pergunta ao autor de O Malhadinhas se a oposição «quer mesmo Delgado para Presidente». Ao que o escritor responde: «Mas é evidente que não, meu caro amigo. Nós precisamos é de alguém que nos abra a porta. O resto ver-se-á depois.»
Não se viu.
Das urnas sai Américo Thomaz. E sai a decisão de retirar a escolha do Chefe do Estado ao povo, para a entregar ao Parlamento.
Dos ex-colaboradores, apoiantes e amigos que Salazar viu opor-se-lhe, o que mais o magoou foi Henrique Galvão.
Militar culto, criativo, enérgico, impôs-se como escritor e dramaturgo, tendo ocupado, entre outros cargos, o de director da Emissora Nacional, estação que o presidente do Conselho ouvia assiduamente.
Acompanhou a sua «traição» e todo o comportamento político em que se envolveu (seria ele, da cadeia, a sugerir a António Sérgio o nome de Humberto Delgado para Belém) com indis-farçável compungência.
Era, aliás, Galvão e não Delgado quem Salazar pensava deter melhores condições para o enfrentar; considerando-o superior no pensamento, na imaginação, na estratégia, na disciplina, na coerência, na perspicácia, fez, como precaução, que o condenassem a 18 anos de prisão maior celular.
Para surpresa sua verificou-se, no entanto, que o destino deu ao segundo a dimensão de mito intemporal e ao primeiro a de estrela cadente.
Henrique Galvão tornar-se-ia, durante vários meses, e apesar de preso e encurralado no Forte de Peniche, um dos fulcros da oposição.
O seu extraordinário poder persuasivo levou a que o transferissem por duas vezes para o Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dirigido pelo Prof. Eduardo Coelho, médico pessoal e amigo íntimo do presidente do Conselho. Que o tratou com a maior deferência.
Era-lhe permitido receber visitas (a estrutura da campanha de Delgado foi delineada no seu quarto) e ter, apesar da vigilância da PIDE, contactos diversos.
Graças a isso, uma jovem e ousadíssima enfermeira daquele estabelecimento de saúde, Maria do Carmo Veiga, concebeu, organizou e executou um plano, ainda hoje secreto, para a sua fuga e permanência em locais desconhecidos, de onde sairia para refugiar-se na Embaixada do Brasil e deixar, em 1959, o País.
Maria do Carmo Veiga, que teve de exilar-se na Grã-Bretanha, onde continua a residir, ultima, a propósito, um livro explosivo sobre a época em causa — marcada pela campanha de Delgado, pelo desvio do barco, pelo corte de relações dos dois amigos e por acutilantes fissuras na esquerda (sobretudo na radicada em Argel), a que sucedeu a execução do «General sem Medo» e, cinco anos depois, a morte, no Brasil, de Henrique Galvão, de doença, esquecimento e miséria.
O assassínio de Humberto Delgado exasperou, pela sua inoportunidade, Salazar. Noutra altura tê-lo-ia, sem disfarce, aliviado, mas na fase em que o general se encontrava (deixara de ser perigoso para o regime) o seu desaparecimento revelava-se comprometedor.
O chefe do Governo mostrou-se duro com o director da PIDE ao saber da participação de elementos seus no crime. Não tinha ilusões: quase todos o iriam pensar autor (moral) do acto, o próprio juízo da História voltar-se-ia nesse sentido.
Consternado, desabafaria a Dona Maria (que mo confidenciou) ser um dos «espinhos de que jamais se livraria».
A governanta lembrava-se bem da madrugada em que o telefone tocou (seriam umas três horas) junto do seu quarto. Um derivado do aparelho central permitia-lhe ter acesso directo, quando ligado (o que sucedia fora das horas de serviço), a todas as chamadas — que atendia com presteza.
A voz cava de Silva Pais comunicava-lhe ser necessário acordar o senhor presidente, pois precisava de falar-lhe o mais rapidamente possível.
Intuindo de algo muito grave, ela desandou a bater à porta de Salazar. Que anuiu a recebê-lo dentro de uma hora, e 60 minutos depois acolhia-o, vestido a rigor, no seu gabinete.
Especializada em escutar às portas (e não só), Dona Maria percebeu o que passara. Do presidente do Conselho fixou palavras geladas e ordens secas no sentido de «tudo ser silenciado».
O sucedido ia abrir uma crise interna e externa altamente nefasta para o regime, fragilizado pelo desgaste das guerras de África e pela mobilidade crescente da oposição.
Maria de Jesus Caetano duvidou, no entanto, da versão de Silva Pais. Achava mesmo que o seu telefonema e a sua ida de madrugada ao palacete não passaram de um estratagema para inibir e cumpliciar o chefe do Governo.
«O ex-general trabalhou comigo anos a fio, e tão longo trabalho em comum deixa sempre um traço no nosso espírito», comentará publicamente o ditador. «Enamorado de certos aspectos da vida americana, que lhe instilou no espírito o veneno da suficiência e da espectaculosidade, pensou azado e fácil importá-los em Portugal, onde tradições de hierarquia, de comedimento, de dignidade do poder se lhe opunham frontal-mente. Assim se fez candidato à Presidência da República e na sua campanha revelou-se verdadeiro génio de agitação (...) Foi o polarizador da oposição revolucionária, até que um dia, cansado da inutilidade da sua acção, desiludido dos conluios tenebrosos, traído porventura pelos que se afirmavam seus correligionários, parece ter tomado uma decisão em termos definitivos — acordar com outros conspiradores numa revolução imediata ou entregar-se às autoridades portuguesas e dizer tudo. A nós convinha que falasse: a outros havia de convir mais o silêncio que só a morte, poderia, com segurança, guardar.»
Salazar (como, depois, Marcello Caetano) não promoveu o julgamento do assassínio de Humberto Delgado e da sua companheira, Arajaryr Campos.
Realizado após o 25 de Abril, os juízes incriminaram quatro elementos de uma brigada da PIDE chefiada por Rosa Casaco. Nenhum se encontrava presente no tribunal. Nem no País. Apenas o director da polícia, que não fugira na revolução, se senta no banco dos réus. Justificando-se com «o desconhecimento dos factos da acusação», Silva Pais afiança que eles só poderiam, tal a sua gravidade, ter ocorrido sob as ordens directas de Salazar.
A versão, posteriormente negada pelos protagonistas da ocorrência, seria tomada (desvalorizada) por eles como uma tentativa desresponsabilizadora do arguido.
Dois cenários ficaram, entretanto, a pairar: o da emboscada e o do atentado. Segundo os defensores do primeiro, a vítima fora atraída à fronteira com o Alentejo para comandar uma sublevação contra o fascismo; o verdadeiro objectivo seria, no entanto, sequestrá-la e trazê-la para Portugal. O cérebro do complô (designado por Operação Outono) não fora Salazar, que o desconhecia, mas Barbieri Cardoso. Ao aperceber-se da armadilha, o general empunhou a pistola que sempre o acompanhava (e de que a polícia não tinha conhecimento) disposto a vender cara a vida. Os agentes Casimiro Monteiro e Agostinho Tienza seriam, porém, mais rápidos a disparar.
Na segunda versão (a oficializada pelo fascismo), o ex-candidato presidencial, abandonado, doente, desiludido, traído, encararia a hipótese regresso ao País — o que teria levado alguns sectores a (servindo-se de agentes duplos da PIDE) eliminá-lo.
O que se passou jamais será, como costuma suceder em casos semelhantes, comprovado. As mitologias que geram acabam por os ultrapassar.
Nenhum investigador, nenhum historiador, descobriu até hoje quaisquer provas de interferências do presidente do Conselho no acto. O exaustivo espólio que deixou, guardado na Torre do Tombo, mostra-se, na verdade, omisso a esse respeito — viabilizando todas as especulações.
As pessoas na frente dele eram todas mesuras, vassalagens, ninguém tinha coragem de lhe dizer nada. Pediam-me a mim para lhe transmitir as coisas ruins. Só o Marcello Caetano o enfrentava. Ele habituou-se a não ser contrariado, habituou-se a ouvir só améns e isso não o ajudou. O senhor doutor dizia-me que o maior perigo não vem dos inimigos, mas dos que se fazem passar por amigos. Parte dos que o visitavam apenas queriam poleiro... batiam, porém, a boa porta!», ria-se.
Maria de Jesus interpretou magnificamente o papel que o destino lhe distribuiu. Aprendeu a afirmá-lo e a resguardá-lo. Fixou depressa etiquetas, rituais, timings. Foi a presidenta que maior poder e menor visibilidade teve entre nós — e a que mais durou, e influenciou, e ficcionou.
Se António Ferro encenou Salazar fora de São Bento, ela encenou-o dentro de São Bento. O seu talento de representação tocará o patético quando, inutilizado, o estadista regressa da Cruz Vermelha e imerge num cenário fantasmático. Espectral, ela cria uma realidade que sobrepõe, impõe à realidade geral. Siderados, o País, o mundo de então, aceitam essa desmesura de sombras e simulações.
Maria de Jesus Caetano Freire tornou-se a mulher mais poderosa de Portugal no século XX. Na sombra, condicionou São Bento, ministérios, administrações, leis, polícias. Criou códigos secretos de comunicação com os que a serviam. Foi a verdadeira, apesar de oculta, primeira dama do Estado Novo.
Ficou na história por um cognome, a Governanta. Como sucedeu com as rainhas: Dona Maria I, a Piedosa, Dona Maria II, a Educadora. Rainha de colmeias a fez, aliás, o destino — quando a levou para Coimbra, criança ainda, e quando lhe deu a conhecer Cerejeira, o futuro cardeal, que a convidou a servi-lo, mais a outros colegas, entre os quais Salazar.
Visceralmente solitária, viveria sempre, no entanto, e morreria, em comunidades — que o eram a residência dos estudantes, virada ao Mondego, a mansão do poder, imersa em São Bento, e o lar de repouso onde faleceu, nas imediações do aeroporto de Lisboa.
Levantava-se cedo, pelas seis horas, antes do pessoal. Arranjava-se e descia. Às sete tomava o pequeno-almoço: cevada com torradas simples, sem leite nem manteiga. Às vezes bebia chá.
Depois velava pelas limpezas e os arranjos da casa. Uma vez por semana dirigia a barrela da roupa. O criado, o Sr. Oceano, ia buscar a cinza de que se precisava, ajudado pelas raparigas. Eram feitos quatro tanques: um para a roupa pessoal de Salazar, outro para a de Dona Maria e das meninas, outro para a da mesa, e o último para a das camas. As peças eram, depois, postas a corar, ao sol. O presidente do Conselho, que gostava delas muito limpas, cheirava-as a todas antes de serem apanhadas.
Preocupada com a sua aparência, Maria de Jesus ia regularmente ao Salão Monteiro pentear-se e pintar de preto o cabelo, que lhe ficou branco muito cedo.
Vestia quase sempre de escuro, normalmente de negro e castanho. Tinha um porte elegante, discreto. Usava maquilhagem leve. As roupas eram feitas em casa. Salazar e ela mostravam-se exigentes na qualidade, na perfeição das coisas que utilizavam.
«Mulher de poucas palavras, revelava-se austera, brusca. Havia empregadas e operários que se recusavam a trabalhar em São Bento por causa do seu génio. Tratava-os mal, berrava com eles, nem sequer respondia aos cumprimentos que lhe dirigiam», revela-me Manuel Marques, barbeiro de Salazar. «Pessoalmente não tive, porém, razões de queixa porque eu sabia ouvi-la. Sabia dominá-la. Confidenciava-me, depois, muita coisa. Chegou a dizer-me que Salazar já não governava nada, que quem mandava era o Barbieri Cardoso, de quem ela não gostava. Fazia-me imensas perguntas. Tornou-se bastante afável comigo. Quando chegava, ia buscar uma cadeira alta para eu poder trabalhar melhor. Trazia água quente e toalhas. Demorava-se um pouco a verificar se estava tudo bem, depois retirava-se.»
Foi Manuel Múrias, cliente de Manuel Marques, quem o convidou a ir cortar o cabelo ao presidente do Conselho. «Aceitei porque queria ganhar dinheiro», acrescenta, «e promover-me. Salazar fazia a barba com uma navalha, cortando-se com frequência porque não se entendia com o assentador, que é aquela correia onde se afiam as lâminas. Recomendei-lhe, então, que usasse uma gilete. Anuiu e adaptou-se-lhe bem. Dona Maria também se adaptou bem a fazer-lhe a barba, e fazia-lha com frequência.»
O carro da presidência deslocava-se a buscá-lo e a levá-lo à loja, um salão que tinha na Baixa. «Salazar não se apercebeu, na manhã do acidente que lhe seria fatídico, foi a 3 de Agosto de 1968, de que a cadeira onde costumava instalar-se, deixava-se cair sobre ela, como os miúdos, se encontrava fora do sítio. Como consequência, estatelou-se desamparadamente no chão de granito», especifica-me. «Recompôs-se e proibiu-me de contar o sucedido a quem quer que fosse. Mas eu, à saída, disse a Dona Maria o que acontecera. Ele era muito cabeça no ar. Quando se punha a ler, perdia a noção do que se passava à volta. Como gostava muito de jornais, Dona Maria pedia às pessoas que iam fazer serviços ao forte que lhos levassem, pois eles só lá chegavam ao fim da manhã. Eu comprava o Diário de Notícias e, mal lho entregava, desligava-se do resto. Só depois da leitura é que conversávamos. Disse-lhe muitas vezes: "Vossa Excelência tem de prestar mais atenção ao sentar-se." Ele olhava para mim e sorria. Achava graça às minhas saídas. Eu cá gostava, e continuo a gostar, de conversar, sobretudo com gente superior.»
A cadeira em causa (desdobrável, de lona e madeira) não teve, assim, qualquer protagonismo na história — que mudou a História. Era mesmo uma cadeira velha que Salazar utilizava quando permanecia no terraço, ao pôr do Sol, a ver os barcos desaparecerem no horizonte. De binóculos assestados, gostava de observar o movimento da barra e os corpos dos banhistas em recantos sem pudores nas praias ao fundo.
Dois dias depois do acidente, Dona Maria pegou nela e, furiosa, partiu-a, atirando-a ao mar. Por isso nunca foi encontrada, apesar dos esforços em localizá-la feitos, posteriormente, pelos investigadores. Ela passou, aliás, e a partir daí, a odiar o forte, o Estoril, o oceano — só muitos anos depois se deslocou, levada por um franciscano de Benfica, ao local para visitar um jardineiro que lá prestara serviço.
«Pelo que observei na altura, não me pareceu lógica a história da cadeira», pormenorizar-me-á o Prof. Vasconcellos Marques, um dos médicos do estadista. «Não era, na verdade, por se estatelar dela abaixo, aí uns 40 centímetros, que iria sofrer um hematoma. Ora a pancada foi muito forte. Não sei, na realidade, o que se passou.»
Salazar tinha calçadas, no dia em que caiu, as célebres botas pretas, de pele fina, impecavelmente feitas e tratadas. A sua história surgiu quando, num Natal, «o senhor doutor pediu à Dona Maria», conta-me Mavilde Araújo, uma das protegidas da governanta, «para se desfazer do par que usara até aí: é uma pena, não me magoam, mas estão velhas, têm de ir para o lixo, lamentou-se-lhe. Sem dizer nada, a senhora chamou um sapateiro e ordenou-lhe: gaste o que for preciso, mas veja se recupera, sem o alterar, este calçado. O homem apurou-se e conseguiu-o. Dona Maria meteu-as numa caixa, embrulhou-as, pôs-lhe um laçarote e, no Natal, colocou-as na chaminé, entre as prendas. Quando ele as viu, ficou tão contente que até bateu palmas de alegria: "Ai que bom, ai que bom, as minhas botinhas, as minhas botinhas!" Nós achámos-lhe tanta graça que contámos a cena a outras pessoas.»
Assim nasceu a legenda do homem das botas.
Chegou a haver 500 galinhas (existiam chocadeiras a petróleo para os ovos) em São Bento, além de perus, patos, pombos, coelhos. Salazar, que afirmava não gostar de coelhos, comia-os (e apreciava-os) sem saber, no entanto, que os comia. Dona Maria disfarçava-os com molhos, temperos, condimentos, ervas aromáticas — que ele não detectava. «Tinha a mania que era muito esperto, mas nós enganávamo-lo com facilidade», confidenciava-me Maria de Jesus.
Amigos de Viseu, Santa Comba, Elvas e Braga enviavam-lhe todas as semanas cestos recheados de carnes, fumeiros, enchidos, hortaliças, pão de ló, broa, queijo, vinho, azeite — azeite de 0,2 graus, que ele muito apreciava
Havia sempre que fazer na cozinha de São Bento. Compotas, perdizes, salgados, doces. «Trabalhávamos todo o ano para todo o ano», explica Mavilde Araújo. «Recebíamos muitas visitas, pelo que não podíamos facilitar. As ementas eram decididas por Dona Maria, de véspera. O senhor doutor gostava muito de linguados grelhados e sardinhas assadas. Era perdido por arroz de ovos, costeletas fingidas, lombo rico, bacalhau de capote, tudo coisas inventadas pela senhora. Ela foi uma das melhores cozinheiras que conheci.»
A comida era igual para todos. Dona Maria almoçava, quando Salazar tinha convidados, depois dele. Geralmente sozinha. Uma criada servia-a, então, das travessas regressadas no monta-cargas.
«A princípio as refeições constavam de dois pratos, depois de um só. Ela bebia tinto Dão, como ele. Apaixonados por caldo verde, comiam-no todos os dias, ao almoço. Quando estavam sós repetiam a dose, eram muito sopeiros. Duarte Pacheco jantou, na véspera do acidente, connosco. Fui eu quem fiz a comida porque a senhora não estava nesse dia em São Bento. O senhor doutor telefonou-me a perguntar: "A Mavildinha arranja alguma coisa para comer?" Respondi-lhe que sim, que ficasse descansado. "E que sobremesa consegue?" "Castelos de marmelada aquecida, como Vossa Excelência gosta." "Ah, excelente!" Assim fiz. O senhor ministro Duarte Pacheco gabou a refeição. Saiu e meteu-se no carro a caminho de Vila Viçosa. No dia seguinte, no regresso, teve o acidente.»
Maria de Jesus servia-se permanentemente do telefone. «Preocupado com as contas, o senhor doutor andava sempre em cima dela:
"Maria, tenha cuidado com esse aparelhozinho, olhe que isso conta muito!"», recorda Mavilde Araújo
Os pedidos a Dona Maria multiplicavam-se de todos os lados: empregos, audiências, promoções, dinheiro, empenhos. Ela escapava-se a atendê-los. Recebia pouca gente. Nem por um sobrinho, mobilizado para a Guiné, interferiu. O jovem, pertencente à Força Aérea, morreu pouco depois de embarcado. «Pelos caídos em defesa da Pátria não se chora», avisara o presidente do Conselho. Ela não chorou. As razões de Estado estavam acima das do coração — como das de Deus.
Era Dona Maria quem queimava os telexes e o material secreto que chegava a São Bento. Mavilde ajudava-a. «O senhor doutor só tinha confiança em nós para fazer esse serviço. Dizia-nos muitas vezes: "Eu da fome não livro os portugueses, mas da guerra livro." Trabalhava, nessa altura, até às quatro, cinco da manhã. Algumas madrugadas acordámos com ele a vomitar, a cair pelo chão, tal o seu cansaço, as suas preocupações.»
Dona Maria estabeleceu com o staff de empregadas e protegidas que a rodeavam um código secreto de sinais. Sinais que fazia com os dedos, com a mala de mão, com as flores, com a roupa, e de que ninguém se apercebia — a PIDE nunca os detectou.
Destinavam-se a pedir coisas, a dar indicações, a transmitir avisos. Se, por exemplo, dizia ao telefone, quando ia com Salazar a Santa Comba, para «mudarem as flores da jarra da capela», isso significava que havia alterações no percurso e nas horas da chegada. Desconfiava de que o aparelho estivesse sob escuta. Tinha muito medo de atentados, de revoluções — ao contrário de Salazar, que não ligava às questões da segurança.
«Para saber o que se passava em encontros a que não tinha acesso, ela dizia-me: "Vai lá e vê se ouves." Como eu era pequena, as pessoas não reparavam em mim e continuavam a conversar. Ouvi muita coisa. A Clínica da Cruz Vermelha, onde ele esteve internado, era um ninho de víboras. Todos preocupados apenas com os seus interesses», ainda Mavilde Araújo. «As senhoras de sociedade que faziam parte dessas instituições de caridade que havia eram umas intriguistas de primeira. Desviavam dinheiro dos peditórios para a canasta, vi-as fazer isso. Algumas levavam cabeleireira e massagista privativas nas suas viagens a África, pagas pelo Estado, quando iam apoiar os soldados. Umas oportunistas! A Dona Maria detestava-as, chegava a correr com elas de São Bento. O senhor doutor também tinha reservas em relação ao seu comportamento, mas não podia fazer nada.»
Maria de Jesus entra em sobressalto ao saber que a filha dos fidalgos por quem o presidente do Conselho se apaixonara, em jovem, e que o rejeitara, lhe escrevera. Na carta dizia que o pai tinha morrido e, como se encontrava viúva, podiam, se quisesse, reatar a relação. Salazar não quis.
Quando estavam em Santa Comba, ela ia à missa para ficar (os dois tinham cadeiras privativas na igreja) a seu lado.
Salazar não lhe falava, porém. Apenas a cumprimentava, à distância — à distância, Dona Maria vigiava-os, enigmática.
Maria de Jesus tentava, em público, não ser reconhecida. Evitou sempre, aliás, que a fotografassem. Isso permitiu-lhe não ter sido incomodada depois do 25 de Abril, à parte pequenos incidentes de ocasião. Destes, o mais desagradável deu-se quando, uma tarde, três indivíduos lhe tocaram à campainha dizendo, um deles, que era um sobrinho chegado do Brasil.
Ela, que tinha uma irmã no Rio, mandou-os entrar, ofereceu-lhes de beber, mas desconfiou dos seus modos. Perguntou-lhes pelos familiares e, de repente, olhando o relógio, disse: «Ah, já me esquecia, tenho de tomar uns remédios urgentes, aliás o médico está aí a chegar, peço-vos, meus filhos, que voltem amanhã, amanhã tenho todo o tempo disponível para vocês.»
Depois de terem saído, e temendo que houvessem deixado alguma bomba escondida, chamou a polícia. No dia seguinte (faziam parte de um grupo de extrema-esquerda), não lhes abriu a porta.
Aos domingos, quando «a sua figura alta, magra, imponente, entrava na igreja, todos os rostos se voltavam na sua direcção, seguindo-lhe os passos, apoiada a uma bengala, muito direita, com o cabelo apanhado atrás», evoca o encenador Miguel Abreu, seu vizinho, na época.
«Era uma mulher superiormente inteligente. Deve ter sido um suporte importante de Salazar. Ajudou-o muito no comando da Nação», afirma-me o seu confessor.
Uma trombose levou-a para o Hospital de Santa Maria. Ao sair, a irmã pô-la num lar. «Internaram-na contra a sua vontade. Contra a sua vontade levaram-na, depois de falecer, para os Jerónimos, não lhe respeitando o desejo de ficar na nossa igreja. A família contrariou-a em vida e em morta», exclama-me um dos frades de Benfica.
Esse religioso conviveu intimamente com ela. Acompanhou-a, inclusive, por várias vezes à sepultura de Salazar, no Vimieiro, ao Forte de Santo António do Estoril, ao teatro para ver a Laura Alves — delirou com a peça Um Zero à Esquerda.
Todos os meses mandava celebrar missa por alma de Salazar. Dava, no entanto, não o apelido mas o nome de António Oliveira. «Deus sabe muito bem de quem se trata», confidenciava aos sacerdotes. Admiradora deles, anulou o testamento a favor da família, deixando a sua casa de Benfica aos Capuchinhos. Ao ser informada da alteração, ainda estava o corpo nos Jerónimos, a irmã Rosalina começou aos impropérios: «Não me deixou nada, nada, nem a bengala...»
Quando, pouco antes de morrer, «a algaliámos, na sequência de exames ginecológicos, ela sofria de infecção urinária crónica, comprovámos que estava completamente virgem. Virgem como veio ao mundo», revela a directora do lar onde expirou. «Reagiu bem ao ambiente desta casa», destaca. «Nunca a vi zangada. Psicologicamente estava perfeita, tinha aqui grande carinho e apoio. Não se mostrava exigente, nem sequer na comida. Apreciava especialmente pratos alentejanos e cozido à portuguesa. Vestia bem, com elegância. Via-se que era uma senhora educada, de princípios, muito discreta. Das 17 pessoas que havia cá dava-se apenas com duas ou três. Aquela com quem estabeleceu melhores relações foi com uma prima do doutor Álvaro Cunhal, Madalena Cunhal. E com a mãe do bailarino Jorge Trincheiras. Não falava no passado. Nem em São Bento, nem em Salazar. Passava algum tempo na sala a ver televisão. Rezava o terço todos os dias, no quarto. Tomava o pequeno-almoço na cama, ia para a saleta, lia, lia bastantes livros, lanchava e deitava-se cedo. Manteve até ao fim a sua personalidade. Expirou serenamente na madrugada de 22 de Maio de 1981, na sequência de uma pneumonia.»
Ao seu funeral foram 30 pessoas.
Numa fotografia autografada que lhe deu pouco antes de morrer, Salazar escreveu: «A Maria de Jesus Freire, muito grato pela sua companhia de sempre, até sempre.»
Salazar era, para Fernando Pessoa, «o produto de uma fusão de estreitezas: a alma campestremente sórdida do camponês de Santa Comba alargou-se em pequenez pela educação do seminário, pelo desumanismo livresco de Coimbra, pela especialização rígida e pesada do seu destino escolhido de professor de finanças».
O autor de A Mensagem via nele «um aritmético, francamente inimigo da dignidade do Homem e da liberdade do Estado». Tendo-o apoiado no início [Defesa e Justificação, folheto), o poeta passa a opor-se-lhe veementemente, sobretudo a partir da altura em que, destroçando as posições de Ferro, Salazar afirma ser «impossível a indiferença pela formação mental e moral do escritor ou do artista, e pelo carácter da sua obra; é impossível valer socialmente tanto o que edifica como o que destrói, o que educa como o que desmoraliza, os criadores de energias cívicas ou morais e os sonhadores nostálgicos do abatimento e da decadência».
A mutação do seu comportamento (de financeiro discreto para estadista intransigente) dá-se após a morte, no exílio, de D. Manuel. O desaparecimento do rei «libertou o Prof. Salazar de qualquer obscuro compromisso monárquico, tomado porventura somente para consigo mesmo», escreve Pessoa.
Fervoroso admirador do último monarca português, o ex-professor de Coimbra não aceitou ocupar o cargo de chefe do Governo enquanto ele foi vivo. No seu imaginário íntimo, achava-se ligado pelo destino ao destino do soberano. Nascidos ambos em 1889, conheceram, com efeito, linhas de coincidências singulares: em 1908, D. Manuel ascende ao trono, Salazar sai do seminário; em 1910, D. Manuel deixa Portugal, Salazar sai de Viseu e entra na universidade.
Só quando D. Manuel sucumbe em Londres, no ano de 1932, Salazar, ministro das Finanças, assume a presidência do Conselho - rejeitando sempre, por opção pessoal, a chefia do Estado.
Com surpreendente ironia, Agostinho da Silva, que teve de se exilar (por não ter subscrito uma declaração afirmando não professar ideais comunistas nem maçónicos exigida a todos os funcionários públicos, o que o levou à expulsão do ensino e à prisão no Aljube), definirá Salazar como «um mal necessário na época. Portugal partiu uma perna. Ele foi o gesso. Fez comichão, irritou, deformou. Quando a fractura ficou curada, o emplastro caiu e o País recomeçou a andar».
Salazar embirrava profundamente com Almada Negreiros. Nunca lhe perdoou o Manifesto Anti-Dantas, nunca lhe entendeu o exibicionismo, nunca lhe apreciou a colagem ao Estado Novo. Nunca impediu, porém, que ele se transformasse num dos pintores do regime.
«Um indivíduo que tem vergonha da terra onde nasce não é íntegro», afirmava. Natural de São Tomé, Almada dizia-se, com efeito, de Lisboa. Amulatado e com apelido de Negreiros, costumava chamar, depreciativamente, de «pretos» e «ciganos» os que queria ofender.
«Portugal é um país de pretos», escrevia. «Dantas é um cigano, um ciganão. Portugal, uma resultante de todas as raças do mundo, nunca conseguiu a vantagem de um cruzamento útil porque as raças belas isolaram-se por completo. É preciso criar a adoração dos músculos, é preciso educar a mulher portuguesa na sua verdadeira missão de fêmea para fazer homens. Fazei a Apoteose dos Vencedores, seja qual for o sentido, basta que sejam vencedores. Ajudai a morrer os vencidos. Portugal não tem ódios, ora uma raça sem ódios é uma raça desvirilizada.»
Numa tarde de calor, à porta da Bertrand, Dantas está de conversa com Luís de Oliveira Guimarães. Almada desce a rua, pára na sua frente, por instantes, tira o chapéu, inclina-se e prossegue. Dantas segue-o com o olhar: «Este Almada, sempre tão velho, coitado!», exclama.
A afirmação, no Anti-Dantas, de que «Dantas nu é horroroso», leva Albino Forjaz Sampaio a perguntar, com ironia, num suelto da Luta que provoca gargalhadas (Salazar é um dos que riem com gosto) generalizadas: «E o que temos nós a ver com as decepções sexuais do senhor Almada Negreiros?»
Almada sabe que a maneira mais fácil, mais rápida, de se ganhar evidência nos círculos culturais é utilizar a violência, o escândalo contra os neles, instituídos. Decidiu, por isso, jogar forte. Ambicioso, quis ter, jovem, presente, nome, poder, dinheiro — sem medida, sem espera.
Júlio Dantas — poeta, dramaturgo, cronista, jornalista, conferencista, médico, deputado, militar, ministro, glória da literatura, do teatro, da sociedade, referência para o Prémio Nobel e para a Presidência da República — tornara-se-lhe, até porque não iria reagir, uma tentação compensadora.
«Morra o Dantas, morra! Pim! O Dantas é o escárnio da consciência! O Dantas é a vergonha da intelectualidade portuguesa! O Dantas é a meta da decadência mental! E ainda há quem não core quando diz admirar o Dantas! E ainda há quem lhe estenda a mão! E quem tenha dó do Dantas! Morra o Dantas! Morra! Pim!», grita.
Dantas sofre a afronta em silêncio. Em silêncio compra todos os exemplares que encontra do artigo e destrói-os. A Luís de Oliveira Guimarães, seu amigo e biógrafo, confidencia: «Não posso falar, eu próprio fiz coisas dessas na minha juventude.» Para se vingar do crítico Fernandes Costa, general e académico, escrevera, com efeito, o Auto da Rainha Cláudia, onde o pôs em intimidades no quarto com a amante, a escritora Cláudia de Campos.
Através de provocações, Almada afronta, pelo corpo, pelo vestuário, pela bizarria, pela chantagem verbal, as convenções, os tabus dominantes. «Ergo-me pederasta apupado de imbecis», entoa, «as mulheres portuguesas são a minha impotência!»
Desce o Chiado de cabeça rapada e pintada, à skinhead. Faz-se fotografar nu por Vitoriano Braga, em poses de discóbolo.
Ginasta de mérito, ajuda a introduzir o futebol amador entre nós. Faz moda. É moda.
Antes, excitara Lisboa ao apresentar-se de fato-macaco no Teatro República (São Luís) a ler o Ultimatum às Gerações Futuristas do Século XX; e ao actuar como bailarino ao lado de Helena Castelo Melhor no bailado de Ruy Coelho A Princesa dos Sapatos de Ferro.
Apercebendo-se dos riscos de tais caminhos, salvaguarda-se: «Eu não pertenço a nenhuma geração revolucionária. Eu pertenço a uma geração construtiva.»
Conquistada a celebridade, muda de comportamento, de imagem; vê-se solicitado pelo poder, pelas instituições, pela imprensa, pela Igreja. Torna-se um sedutor. Jornalistas e jornais [Século, Século da Noite, Diário de Notícias, Diário de Lisboa, Diário Popular) estão do seu lado, têm-no do seu lado.
Passa a ser tratado por mestre. E como mestre se posiciona.
A dignidade do silêncio
Ao contrário de Almada, Dantas é um clássico, relacionando-se e vestindo-se sempre com esmero — gravata, chapéu, água-de-colónia, anel de safira. «Uma pessoa que se sente bem arranjada tem mais confiança em si própria. Sabe sorrir e saber sorrir é saber viver», enfatiza. «Na vida, como no jogo, o primeiro prazer é ganhar, o segundo é perder!»
A um autor desancado pela crítica, que o procura, aconselha: «Não responda. Não há nada que valha a dignidade do silêncio. Quanto mais você subir, mais detestado, mais insultado será.
Eduque o seu espírito na lição da serenidade, que tudo vence; da generosidade, que tudo perdoa.»
Quando Salazar escolhe Júlio Dantas para a Exposição do Mundo Português, uma das primeiras pessoas que ele chama para trabalhar consigo é Almada. «A única maneira de ser original é ser sincero», diz-lhe ao convidá-lo.
Júlio Dantas nasceu e faleceu no mês de Maio («uma Primavera o trouxe, uma Primavera o levou», comenta Luís de Oliveira Guimarães), Maios separados por 86 anos de uma vida, de uma obra, de uma postura, de uma perspectiva, singularíssimas.
«Teve o prodígio da versatilidade política. Gostava de estar», evoca António Valdemar, «sempre perto do poder. Para se aproximar do Paço e da rainha escreveu a Ceia dos Cardeais. Não recebendo os cargos e as honrarias a que julgava ter direito, aproveitou-se da crise do regime monárquico e fez Um Serão nas Laranjeiras, denúncia da decomposição da corte. Mas não se afastou dela. Aguardou, por exemplo, a chegada da família real de Vila Viçosa, no fatídico 1 de Fevereiro de 1908, e ofereceu a Dona Amélia um ramo de flores. O mesmo que ela arremessou à cara do Buiça quando este disparava a carabina. Proclamada a República, Dantas aderiu-lhe e publicou na Capital, em folhetins, A Cruz de Sangue, reunida depois em livro sob o título Pátria Portuguesa, uma exaltação do povo e uma condenação da nobreza. Perante o conflito desencadeado com a Igreja pela Lei da Separação de Afonso Costa, redigiu a peça A Santa Inquisição, em que condenou violentamente o Santo Ofício. Com o advento do salazarismo deu-nos Frei António das Chagas, elogio de quem se sacrifica, se imola pela Pátria. O abalo provocado pelo MUNAF e pelo MUD, que fez estremecer a posição de Salazar, levou-o a reformular a Antígona, uma crítica ao velho ditador através da personagem de Creonte.» Há quem, ironizando, diga que, se Dantas continuasse vivo, teríamos tido peças suas sobre o 25 de Abril, o PREC, Mário Soares, Cavaco Silva — a favor e contra.
Almada Negreiros mostrou-se mais transparente. Apoiou o salazarismo e o catolicismo, fez vitrais para a Igreja e murais para o regime. Aceitou denegrir figuras da oposição (caso de Norton de Matos] e propagandear grupos do regime (caso da Legião Portuguesa].
Morreu crente, com funeral católico e pompa religiosa. Era amigo de Cerejeira, admirador de Salazar.
Quando este vai à antestreia do Auto da Alma, no Teatro São Carlos, com cenários seus e interpretação de Maria Lalande, ambos se precipitam, no final, para o presidente do Conselho.
«Posso dar-lhe um beijinho?», pergunta a actriz. Salazar, indiferente: «Se isso lhe dá prazer...» Ela beija-o.
Almada avança: «Posso cumprimentar Vossa Excelência?» Salazar, entediado: «É o senhor Almada?» Almada curva-se respeitosamente: «Sim, senhor Presidente, sou eu. Tenho muita, muita honra em cumprimentá-lo!»
A distância, Vitorino Nemésio cicia para um amigo: «O Dantas está vingado.»
A pergunta sobre o que pensava de Deus, Júlio Dantas respondia: «Sou acima de tudo um homem de teatro, Deus para mim é um elemento essencialmente cénico.»
O dramaturgo — a quem Augusto de Castro chamava o Quarto Cardeal, em alusão à Ceia dos Cardeais, que eram três, e aos inúmeros bispos, frades, freiras, abades, que povoam as suas obras («são figuras eminentemente teatrais», repetia] — recusa-se a casar religiosamente e exige que o seu funeral seja civil.
Isso causou, dado o prestígio de que desfrutava, grande perturbação nos meios católicos. Para salvar as aparências, Cerejeira pediu ao padre Moreira das Neves que se deslocasse à Academia das Ciências, onde o corpo estava em câmara-ardente, e que permanecesse junto da urna, de joelhos, a rezar, sobretudo nas alturas em que a sala tivesse mais gente. Moreira das Neves assim fez.
«Os dois eram demasiado vaidosos para ficarem alheios um ao outro. Mereceram-se um ao outro», sintetizava Salazar.
Na manhã de 9 de Março de 1952 começaram a circular em Lisboa notícias sobre um crime de morte ocorrido na véspera, num palacete de Cascais, durante uma orgia elegante e tumultuosa.
Bacanais, violações, espancamentos, actos «contra a natureza», consumo de drogas, destruição de mobiliário, missas negras, esoterismos, eram-lhe associados, envolvendo altas figuras da sociedade de então.
Com o picante permitido pela Censura, a imprensa descrevia o aparecimento do corpo de Carlos Burnay, jovem de boas famílias e maus comportamentos, «morto com dois tiros, no leito de um quarto, de pijama e tronco nu, coberto com as roupas da cama até ao peito».
Declarações da polícia pormenorizavam: «Cerca de 40 indivíduos, incluindo sete mulheres, comprometeram-se com actos indecorosos, quer em abuso de libações e de costumes, quer em estranhas devastações na vivenda onde se encontravam.»
As notícias nos jornais e os relatos nos cafés excitaram, em breve, o País. Os ingredientes do caso revelavam-se, aliás, irresistíveis: um menino-bem, rico, bonito, desenvolto, aparecera assassinado na vivenda da família, após uma noite de excessos e interditos.
Tratava-se de Carlos Burnay, de 25 anos, estudante de Direito, filho de Duarte Gustavo Nogueira Soares, visconde do Marco, e de Ana Maria Burnay, divorciados. Vivendo com o pai, no Dafundo, o jovem aproveitava a ausência da mãe, em Paris, para dar uma série de bailes na sua casa, a que chamava «Serões da Amizade».
A polícia apurou que, «com os assistentes já bastante embriagados», alguém «fabricou um cocktail com absinto, álcool puro e cocaína, que beberam»; e que «houve grande confusão e luta durante a festa, pois havia estilhaços e destroços por toda a parte». Até «o telefone e os canos da água foram arrancados, o que provocou inundações». A «mobília foi parcialmente destruída».
Os investigadores anotavam, depois, que o falecido «subsidiava diversos indivíduos da sua intimidade, com pensões mensais fixas». Isso fazia com que muitos marginais o tentassem conquistar — para chantagiar.
Inquieto, Carlos Burnay conciliava mal as exigências sociais da sua família com os impulsos íntimos da sua natureza. A vida nocturna dos bares, a ambiguidade dos bas fonds da cidade, seduziam-no especialmente, como o seduziam a literatura, a escrita, a filosofia, a música, a ópera, a pintura, as viagens, a advocacia, a natação.
«Conheci-o na piscina do Algés e Dafundo, que frequentávamos ambos», recorda-me Luís Ricardo, seu (e meu) amigo: «Era uma pessoa muito gentil e espirituosa, com grande paciência para os outros. Alguns do nosso grupo estiveram no baile.»
As festas exóticas tinham-se tornado, na altura, moda. «As do conde de Caria, por exemplo, despertavam grande repercussão social. Eram feitas no seu iate», pormenoriza-me o Prof. Sequeira Torres, «e os convidados embarcavam na doca de Belém.»
Os que foram à de Cascais viram-se, pelas circunstâncias criadas, objecto de violenta chacota. A Censura teve, no entanto, o cuidado de cortar os seus nomes para os preservar da exposição pública. Nenhum deles, aliás, assumiu (assume) a sua presença na casa dos Burnay. Apenas os actores Rogério Paulo, Maria Albergaria, António Palma, e a colunista Magê, o fizeram.
Uma canção brasileira em voga ("Quem me ensinou a nadar / Foi o peixinho do mar / Foi, foi, o peixinho do mar»), tocada durante o baile, colou-se-lhe, espalhou-se-lhe como um refrão de desbragamento.
As rádios, as revistas do Parque Mayer, os espectáculos das colectividades de recreio, os cegos de rua, fizeram dela senha de insinuações, de duplicidades. Para o público rasca, as pessoas de sexualidade suspeitosa passaram a ser, genericamente, «peixinhos do mar».
Ser-se conotado com os bailes de Cascais era tornar-se objecto de escárnios e contundências. A própria vila de Cascais, hoje cidade, viu serem-lhe colados rótulos estigmatizadores. «Bastava dizermos que éramos de lá e logo nos víamos gozados. Em todo o lado isso acontecia. Lembro-me, andava pelos meus 16 anos, de que fui passar férias à Sertã, terra da minha avó. Pois nem aí tive descanso. Como conhecia a família Burnay, a minha mãe dava-se com a mãe de Carlos, ouvia provocações contínuas. Foi um fenómeno extraordinário, esse», descreve-me o jornalista Raul Paulo.
Um grupo de cascaenses sentiu-se na necessidade de informar, através de comunicados distribuídos publicamente, que «nem todos» os seus conterrâneos «desrespeitam os bons costumes».
O Palacete de Santana, onde se deram o baile e o crime, foi projectado por Raul Lino e construído, em 1931, para a família Burnay, pertencendo a Ana Maria Burnay Aranha. Situado entre as Avenida Emídio Navarro e Rua dos Bem Lembrados, na parte oeste de Cascais, é um exemplo típico, com as suas varandas e balaustradas, da «casa portuguesa».
A modorra desse Março entretinha-se, no geral, com notícias sobre a trasladação dos corpos de Dona Amélia para São Vicente, e de Jacinta, a pastorinha de Fátima, para a basílica da Cova da Iria. Lá fora, em Cuba, Fulgêncio Baptista apoderava-se do poder através de um golpe militar, e médicos americanos experimentavam com êxito, num hospital de Filadélfia, um coração mecânico.
No cinema, Saltimbancos enchia-se de adolescentes suspirando por Artur Semedo. «Na altura do baile, e eu frequentava as principais festas que havia, estava em Moçambique a filmar Chaimite», observa-me o actor. «Só por isso não fui.»
O moralismo dos seguidores do regime despertou o moralismo dos opositores do regime. Uns e outros identificaram-se na defesa de normas — que nem uns nem outros praticavam.
A esquerda deu, aliás, cobertura à invasão da privacidade dos suspeitos, à intromissão «dos poderes públicos» nas zonas «em que as relações entre os indivíduos se processam com base em contratos», anota o escritor José Martins Garcia.
Conhecido de Carlos Burnay, Mário Cesariny («encontrei-o na noite anterior ao seu desaparecimento», conta-me, «num bar do Cais do Sodré») escreverá, na Titânia, que o baile de Cascais teve «muita aristocracia/ e morto/ e tudo».
Contrapor-lhe-á, em poema demolidoramente irónico, os bailes de Xabregas, com marujos e fadistas, mais populares e transgressores do que os da Linha aristocrática. «Não fui à festa porque não me agradava o seu género. O escândalo que provocou foi tremendo. As autoridades encontraram nele uma mina de oiro. Os homossexuais de posição gastaram fortunas para não serem incomodados.»
Registaram-se, com efeito, dádivas generosíssimas, por altas figuras, a instituições de caridade e obras patrimoniais, com o fim de se reporem respeitabilidades abaladas.
A polícia desenvolveu rusgas sistemáticas pela cidade, violando direitos individuais elementares. Dezenas de pessoas foram, durante semanas, conduzidas aos gabinetes e aos cárceres do Torel, sede, então, da Judiciária, por mera suspeita de «desvios» comportamentais.
O terror generalizou-se. Personalidades de vulto deixaram, discreta e temporariamente, o País. Algumas radicaram-se em África e no Brasil. Filhos-família, para calarem suspeitas, casaram-se a toda à pressa. Ondas de homofobia explodiram à direita e à esquerda, entre governantes e opositores, intelectuais e analfabetos, autoridades e marginais. Os mais lúcidos, os mais tolerantes, não se atreveram a manifestar-se.
Cavaleiro Ferreira, ministro da Justiça, endurece a legislação com medidas de internamento para os «vadios, mendigos, proxenetas, chulos (os homens que viviam de mulheres prostituídas), homossexuais e aliciadores de menores».
Em muitos aspectos, «a polícia não actuou com a perspicácia devida», diz-me um destacado elemento da Judiciária. «Investigava-se mais com as mãos do que com a cabeça. As dificuldades também eram de toda a ordem, não havia sequer um laboratório científico de apoio. Os casos mais frequentes que nos apareciam diziam respeito a roubos, corrupção e pedofilia».
As crianças «não existiam perante a lei, nem as mulheres. Podiam ser molestadas e assassinadas sem consequências. Nos 28 casos de morte de mulheres pelos maridos que foram a tribunal, entre 1910 e 1926, ninguém foi condenado», observa Moita Flores.
Outros escândalos sexuais — caso do «Crime de Uceda» (um espanhol morto no Parque Eduardo VII, em que esteve implicado uma familiar do Presidente Carmona), do processo do «Moinho Vermelho» (pedofilia ocorrida no Barreiro), dos «Ballets Rose» (pedofilia e prostituição VIP) — tiveram o mesmo destino do de Cascais.
Sob a capa da irreverência, o País golfa intolerâncias preocupantes. Salazar ouve os que o procuram em pânico.
Não compreende a insensibilidade deflagrada: uma tragédia que devia provocar compaixão, transformava-se em número de circo; a morte de um jovem, a merecer constrangimento, fazia-se sketch de revista. A família não pôde, sequer, assumir publicamente o luto por ele, a dor por ele. Só na intimidade teve direito a chorá-lo, a preservá-lo.
O cunhado, Duarte Borges Coutinho, marquês da Praia, é preso e posto incomunicável na Penitenciária de Lisboa. A um seu irmão sucede o mesmo. Todos são suspeitos.
«Saí de Portugal nessa altura. Era impossível viver cá nas circunstâncias criadas. Passei as passas do Algarve. Fui para fora até que as coisas acalmaram», pormenorizar-me-á o actor Pisany Burnay, familiar do desaparecido.
O pai vê-se obrigado a publicar no Diário de Notícias uma declaração dizendo ser falso que o filho desse «festas ruidosas». Tudo isso não passava de «lamentáveis calúnias» destinadas a denegrir a memória do falecido. «A maior parte das pessoas que foram a essa festa», especifica, «e destruíram os móveis, não eram conhecidas do Carlos. Apareceram de improviso. Alguns mascarados levaram bombas de Santo António que lançaram pela residência, com risco de provocarem um incêndio.»
Os cortes da Censura e as ameaças das autoridades pouco conseguiam fazer. Tornava-se urgente, para que o equilíbrio social se restabelecesse, acabar com o caso.
Quando um jovem, chefe de mesa de um hotel do Estoril, diz aos agentes que o interrogam que passara a noite do crime em intimidades com o rei de Itália e com o chefe do protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e quando os investigadores querem, na sequência disso, chamar os dois a depor, tudo se precipita.
O director da Judiciária e o titular da Justiça correm a São Bento. Salazar, que os ouve em silêncio, percebe que tem de actuar e, rápido, mandar arquivar o processo. No dia seguinte, a imprensa vê-se subitamente convocada para o Torel, onde lhe distribuem um longo comunicado — que impõe o «suicídio de Carlos Burnay».
A Censura é notificada para não deixar sair mais nenhuma referência ao caso. Não saiu. Poucos acreditaram, porém, em tal desfecho. A chacota pela dubieza das investigações sucedeu a frustração pelo fim delas.
A encenação feita pelos autores do crime revela-se complexa. «E perversa», anotar-me-á o advogado e dramaturgo Fernando Luso Soares, na altura inspector da PJ.
«Quando cheguei ao local, dezenas de pessoas tinham já entrado no quarto e mexido em quase tudo. Ao contrário do que foi dito, o jovem não morreu na casa onde se deu o baile, mas numa outra contígua. Os que o assassinaram levaram o corpo e arranjaram-no para darem a ideia de que se teria suicidado. A tese do suicídio não tinha, porém, pés nem cabeça. Os dois edifícios foram passados a pente fino por 39 agentes. Segundo testemunhos que recolhemos, a certa altura Carlos Burnay, sentindo-se maldisposto, vomitou e disse para os que o rodeavam: "Vou descansar um bocado." Subiu para um dos quartos e não mais foi visto. Eram cinco da manhã.» Na divisão onde apareceu o cadáver havia uma pistola sobre a cama, com duas balas no carregador e uma na câmara.
As roupas que o jovem envergava na festa estavam dobradas numa cadeira, ao lado. «As investigações tornaram-se uma baralhada, a confusão fez-se total», acrescenta Luso Soares. «Tive de imediato a sensação de que havia ali dedo de mulher. Estou convencido de que o crime foi cometido pela criada da casa e pelo marido. Foram presos para interrogatórios. Penso que eles acabariam, era uma questão de tempo, por confessar, se o processo não tivesse sido encerrado.»
O advogado da mãe de Carlos Burnay, António Maria Pereira, compartilha da mesma tese: «Foram eles que o assassinaram», garante-me: «Elaborei, aliás, um relatório nesse sentido e mandei-o para as instâncias respectivas. Ignoraram-no.»
Mulher de forte personalidade (diziam-na ligada a esoterismos e ocultismos), a empregada em causa teria agido dessa maneira ao saber que Carlos Burnay, amante do marido, o abandonara, desprotegendo-os economicamente. Nada foi, porém, provado.
«Ela tinha um olhar gelado», evoca Luso Soares. «Quando, um dia, a interrogava, respondeu-me: "Seja mais cauteloso nas perguntas que me faz. Veja bem os olhos com que o estou a fitar..." Olhei. Senti um arrepio estranhíssimo pelo corpo. Pela primeira vez na minha vida tive medo. Foi uma coisa inexplicável, profunda, única. Horas depois, ao entrar no meu gabinete, sou chamado ao director, o doutor Alves Monteiro, que me disse: "Solte-os imediatamente, é uma ordem superior."
Nunca me senti tão perplexo como então. Não tenho dúvidas nenhumas de que foi ela quem arquitectou tudo.»
Ao levarem-lhe, ao décimo quinto dia de encarceramento, o marido para mais uma tentativa de acareação, este rojou-se-lhe aos pés implorando convulsivamente: «Acaba com isto, mulher, não aguento mais!» Ela levantou a cabeça e trespassou-o com o olhar. Instantaneamente ele ficou calado, apático, sem reagir. Estupefactos, os inspectores retiraram-no, desistindo de os confrontar.
A tese do suicídio baseava-se em interpretações (subjectivas) tecidas pelas autoridades a partir da personalidade, do temperamento, de Carlos Burnay — indivíduo «melancólico e depressivo», com «fortes pulsões necrófilas» e «acentuadas tendências mórbidas», no dizer da polícia.
Foram encontrados versos e pensamentos seus escritos sobre o direito ao suicídio. Num caderno havia até anotado que só ele podia dispor da sua vida. O texto, intitulado O Meu Testamento, descrevia depois, com grande sensibilidade, chamamentos de morte sentidos por si. Os investigadores viram nisso a explicação «para um acto de desespero», decidido ao aperceber-se da gravidade dos incidentes ocorridos durante a noite fatídica.
Em carta publicada no Diário de Notícias, a 5 de Abril de 1952, a mãe tenta, desesperadamente, inverter semelhante conclusão: «Esse documento», esclarece, «é o princípio de um romance que o meu filho começou a escrever e me entregou há mais de um ano, em que a personagem principal resolve suicidar-se. Considero impossível tal hipótese, pois o meu filho escreveu-me na véspera de aparecer morto uma carta em que se mostrava muito satisfeito.» Conforme foi verificado pelos investigadores, a pistola que se encontrava na cama não tinha disparado.
A teoria do suicídio foi a mais conveniente para salvar a face a todos: à polícia, aos tribunais, à moral, à opinião pública.
Desprotegido, o corpo de Carlos Burnay desceu, dois dias depois de ter sido autopsiado, a um gavetão do jazigo da família no cemitério dos Prazeres, em Lisboa. Onde ficou para sempre, sem direito à justiça, à dignidade, à memória — prescritas pelas convenções.
Desaparecido, o processo seria encontrado 47 anos depois num caixote, nas caves da Judiciária. A convite do seu director, na altura Fernando Negrão, leio-o: é um arrazoado feito para, como previa, confundir, encobrir, diluir, iludir.
Anos mais tarde, adiantada já a década de 60, outro escândalo sexual-social abanou o País causando novos enfados em Salazar — com cada vez menos paciência para as pudicícias (hipócritas) dos seus concidadãos.
Um vulgaríssimo caso de senhores bem instalados no regime, mas não na prudência, metidos com menores, veio a público empolado pela oposição, sob o apelativo nome de «Ballets Rose».
Conhecedor das fraquezas da carne (iguais às da carteira), o velho estadista perdeu as estribeiras quando o jovem Mário Soares, em entrevistas a jornais estrangeiros, denunciou o sucedido como de gravíssima natureza política e não de corriqueira luxúria sexual.
A sua vingança foi pérfida: exilou o futuro Presidente da República em São Tomé, «ilha onde havia», ironizava para Jorge Pablo, «jovens pretinhas a precisarem de ser defendidas da concupiscência dos degenerados colonialistas», papel que «assentava como luva em tão prestimoso esquerdista».
O pai de Mário Soares, João Soares, merecia-lhe, porém, consideração. Com uma vida acidentada, tinha empenho nas convicções (fora monárquico, sacerdote, político, ministro, professor), inteligência nas ideias, coragem nos actos, características que o presidente do Conselho prezava sem recuos. Deixou-o, embora vigiadamente, organizar a sua vida e lançar aquele que se tornaria o melhor colégio particular de Lisboa: o Moderno.
«Com o filho à distância, as coisas irão até correr melhor», insinuou, «ao João Soares.»
Salazar tinha, aliás, dificuldade em perceber porque «o puritanismo da esquerda igualava o da direita»; porque «os laicos não eram mais arejados do que os beatos»; porque, tirando o divórcio e o aborto, «não se detectavam grandes diferenças entre Moscovo e o Vaticano».
A ele, que admitia a reencarnação dos espíritos ora em corpos de homens ora de mulheres, desagradava-lhe toda a publicitação das particularidades que pertenciam ao íntimo de cada um. Sentia, por vezes, repugnância pela actuação da polícia de costumes que os moralistas do regime e da Igreja impulsionavam, alimentavam, aproveitando a sua passividade em tais matérias.
Deixara, na verdade, como em muitas outras questões inibitórias, que o destino corresse por si, pois considerava-o (ao destino) mais de acordo com a realidade mental da época do que ele.
Figuras de destaque causavam-lhe com frequência embaraços enviesados, como o rei Humberto de Sabóia, quase morto, uma madrugada, por desconhecidos, em Cascais. Teve de pedir à polícia que influenciasse vigilâncias sobre os comportamentos mais imprudentes do ex-monarca de Itália. Seria extremamente desagradável para Portugal se lhe acontecesse, entre nós, algo de irremediável.
Um amigo e ministro de anos que frequentava, à tardinha, o urinol público existente no Príncipe Real, e por cuja segurança temia («arrebentas» proliferavam na zona), levou-o a mandar encerrar o WC daquele jardim. O visado, porém, não se atrapalhou: mudou-se, ligeiro, para o do Rossio.
Descorçoado, o presidente do Conselho desistiu de vez de meter-se nesses campos.
Salazar foi sempre correctíssimo connosco», conta-me Madalena Perdigão. «Tivemos, no entanto, profundas divergências, como quando a PIDE expulsou do País o Maurice Béjart.»
Azeredo Perdigão só aceitou a oferta de Calouste Gulbenkian para presidir à Fundação, não queria abandonar a advocacia, por insistência («não há ninguém melhor do que o senhor doutor para esse cargo») do chefe do Governo.
Conheciam-se de Viseu, quando um era prefeito no Colégio da Via Sacra e o outro estudante no liceu. «Salazar nunca interferiu», sublinha-me Azeredo Perdigão, «nos assuntos da Gulbenkian. Apenas influenciou a escolha da administração, que tinha de ser maioritariamente portuguesa, e de que faziam parte figuras da sua confiança, como Pedro Teotónio Pereira, Marcello Mathias, Leite Pinto, duque de Palmela.»
Azeredo Perdigão viveu (98 anos) em quatro regimes sem se envolver com nenhum. «Tenho relações cordiais com todos os políticos. Evito os atritos.»
O presidente do Conselho convida-o para candidato à Presidência da República em 1965. A União Nacional prefere-lhe, porém, Américo Thomaz.
A sua biografia é clássica: nascido na Beira Alta, vem a seguir ao 5 de Outubro para Lisboa (o pai, republicano, foi feito deputado), onde se matricula na Faculdade de Direito. Expulso por mau comportamento, transfere-se para Coimbra, forma-se com 18 valores e reinstala-se na capital.
Evidencia-se então em tertúlias, sobretudo literárias e políticas. Convive com Fernando Pessoa, Sá Carneiro, António Ferro, Almada Negreiros. Acompanha-os no lançamento da revista Orpheu.
Ajuda depois Aquilino Ribeiro, Raul Brandão, Câmara Reis e Raul Proença a fundar, em 1921, a Seara Nova. «O meu gosto pelas artes advém do convívio que tive com uma geração que marcou a nossa cultura. Fui muito dado à leitura. Leio, aliás, todos os dias.»
Um dos primeiros livros que escreveu, A Indústria em Portugal (tem vários títulos publicados), influenciou Pessoa, que, no heterónimo Álvaro de Campos, adoptou algumas das suas teorias.
Considerado aos dez anos um «ateu de calções» (irrompera com um grupo de miúdos num almoço de republicanos, em Viseu, para saudar António José de Almeida, José Relvas e Luís Gomes, presentes no restaurante), faz o itinerário habitual nos jovens do seu meio.
Abre-se ao modernismo, pratica a subversão, inquieta-se, aquieta-se, instala-se. Nomeado conservador do Registo Predial, publica trabalhos forenses de doutrina e crítica. Depressa se afirma como um dos advogados mais brilhantes, e mais bem pagos, do meio. Faz parte da administração de bancos e empresas, ganha poder, influência, prestígio, dinheiro.
É severo de dádivas e perdulário de ostentações. Gosta de mudar de casa (compra várias) e de ter muitos criados (baratos na época). É, acusam-no, pomposo e vaidoso, autoritário e ríspido.
«O meio português, em vez de facilitar o exercício das faculdades criadoras do indivíduo e de contribuir para o seu desenvolvimento, estiola-as, quando não impede por completo as suas manifestações», queixa-se. «Muita da nossa gente pensa que criticar é destruir. Os portugueses são muito pedinchas. Pedem favores, pedem dinheiro, pedem ao Governo, pedem a Deus.»
A primeira causa ganha-a no tribunal da Madeira. «Que extraordinário comediante se perdeu», exclamou o actor Assis Pacheco ao vê-lo pleitear uma causa.
«Quando punha a toga para defender ou acusar, era como se vestisse uma armadura para um grande combate. Ainda hoje tenho saudades», evoca, «dessas horas de glória e de tristeza que vivi intensamente.»
Provocou dois duelos: um nos tribunais, com um juiz, outro nos jornais, com um dos proprietários de O Século — ambos, porém, anulados.
Caeiro da Mata, ministro dos Estrangeiros, é o primeiro a sugerir, com o apoio de Salazar, o nome de Azeredo Perdigão (de quem fora professor) a Calouste Gulbenkian, que necessitava de um especialista em Direito Internacional.
Fernando da Fonseca, então médico do magnata, secunda-o nas boas referências ao jovem advogado. Gulbenkian manda chamá-lo. As relações entre eles tornam-se excelentes. Azeredo Perdigão e Fernando da Fonseca caem, aliás, no goto do poderoso arménio, que os quer levar consigo para os Estados Unidos, onde projecta fixar-se com a sua fortuna, as suas empresas, os seus negócios, as suas obras de arte.
Fernando da Fonseca e Azeredo Perdigão negam-se, porém, a acompanhá-lo. Dependente deles (e agradado com a estabilidade do regime e a brandura do clima), Calouste Gulbenkian resolve, então, ficar em Portugal e criar uma fundação (aberta em 1953) para as suas telas — «as minhas meninas», como gostava de chamar-lhes.
Aos 53 anos, Azeredo casa com Alice Raquel Dantas da Silva, uma das primeiras advogadas portuguesas, de quem tem dois filhos. Viúvo, consorcia-se pela segunda vez, em 1960, com a ex-pianista Madalena Biscaia Farinha, também viúva, 30 anos mais nova — que morrerá (antes dele) em Dezembro de 1989.
Conheceram-se quando Madalena veio a Lisboa agradecer-lhe o apoio dado ao marido, funcionário da Fundação em Coimbra, durante a sua doença. A sede da Gulbenkian funcionava então no escritório de Azeredo Perdigão, na Rua de São Nicolau, onde ele a recebe e a convida para trabalhar na área da música.
As mulheres influenciaram-no (sofisticaram-no) decisivamente: a primeira no plano jurídico (ajuda-o a tornar-se «um papa em Direito Civil e Comercial»), a segunda no plano artístico (impõe-o «um mecenas de criadores culturais»). Ambas sucumbirão dramaticamente de cancro, após períodos de grande sofrimento.
A angústia que muito cedo atinge Azeredo Perdigão leva-o a aproximar-se da fé e da Igreja. «Foi por inteligência que me tornei católico. Foi uma busca, uma procura, provocada por uma iluminação inteligente: o reconhecimento da incapacidade da ciência na explicação das coisas. Quanto mais a ciência avança, mais novas questões e mistérios inexplicáveis se nos colocam. Foi daqui que parti. É como se estivéssemos num túnel: nós estamos do lado de cá, no meio de uma luz que nos cega; começamos depois a ver, distante, do outro lado, uma pequena luz. E então, ou tememos e recuamos ao estado inicial, ou vencemos o temor e avançamos para o outro lado. É um salto, uma aventura. Tinha passado a casa dos 30 anos e foi terrível», revela.
Passa a assistir à missa e a confessar-se a Cerejeira, seu consultor espiritual. Nos últimos anos, esse papel foi desempenhado pelo padre Melícias. «Quando desaparecemos separamo-nos de tudo completamente. Nem notamos que nos separamos.»
Azeredo Perdigão avançou sempre com argúcia, entre salazaristas e oposicionistas, monárquicos e republicanos, burocratas e criadores. A sua Fundação tinha recursos, tinha poderes para atrair e inibir a todos.
Não hesita, ao turvarem-se as águas, em ziguezaguear à bolina: subsidia gente de esquerda e anula apoios a instituições da oposição; admite comunistas e despede detidos pela PIDE. Quando a Sociedade Portuguesa de Escritores premeia Luandino Vieira, a 19 de Maio de 1965, manda rever todos os patrocínios concedidos pela Gulbenkian à SPE — de que se afasta.
Em Azeredo Perdigão encontram-se sintetizadas, como em Salazar, uma cultura, uma ideologia, uma mística, uma acção. Ele é o rosto de um certo Portugal senhoril e asceta que desceu do planalto, se fez a pulso, impôs, dominou, transformou — soçobrou. «Sinto-me hoje como um sobrevivente, quase uma abencerragem.»
Com minúcia construiu um poder próprio, definiu territórios, estabeleceu prioridades. Chefiou um estado ao lado do Estado. Inteligente e lúcido, esquivo e determinado, assistirá à vida do País de um camarote-redoma, solitário, quase mítico.
A sua imagem faz-se um reflexo de ausências e presenças, que a superioridade económica, cultural, política, afectiva, tornou intocável.
Apoios diversificados nos sectores artísticos (música, pintura, escultura, bailado, teatro, cinema), literários (bibliotecas, edições, estudos), científicos (investigação, pesquisa, laboratórios), sociais (saúde, educação, habitação), formativos (bolsas, cursos, especializações), patrimoniais (inventários, restauros, reconstruções), na divulgação (levantamentos, ciclos, exposições), na cooperação (Brasil, África, Oriente), na assistência (hospitais, intervenções, acompanhamentos), fizeram da Fundação Gulbenkian o nosso verdadeiro Ministério da Cultura e dele o nosso grande mecenas — como convinha a Salazar.
Depois do consulado de Ferro, o presidente do Conselho achou mais confortável, mais prudente, «reprivatizar», dessa maneira, a cultura.
Azeredo Perdigão nunca chegou a aperceber-se de como lhe foi útil.
Outro mecenas respeitado por Salazar foi a marquesa de Cadaval, que, na sua quinta de Sintra, organizava anualmente festivais de música clássica de projecção mundial. Os maiores nomes de então vieram (inclusive da Rússia) dar ali recitais - a que o chefe do Governo adoraria, mas não tentaria, assistir.
A ópera era-lhe outro fascínio secreto que desfrutava (imaginava) através de gravações e de transmissões da Emissora Nacional - escutadas enlevadamente, como a actuação de Maria Callas no São Carlos.
Foi para conhecer Humberto de Itália, refugiado em Cascais, que a diva aceitou actuar em Lisboa. Aproveitou a deslocação para antestrear (melhor: testar) La Traviata, que interpretara no começo da carreira.
São Carlos fizera-se, apesar de periférico, uma referência nos circuitos operáticos mundiais. A marginalização dos grandes intérpretes, acusados de colaboracionismo com os fascistas, e a inoperacionalidade dos principais teatros, devido aos bombardeamentos da guerra, tornaram-no um porto para artistas, encenadores, maestros, cenógrafos, técnicos.
«Estiveram cá cantores a preços baratíssimos», lembrará Serra Formigal, ex-director do teatro. «Entre 1946 e 1960, Lisboa tinha o que havia de melhor.»
Na tarde de 25 de Março, corria o ano de 1958, Maria Callas desce do avião, vinda de Madrid. Na pista, aguardam-na flores, palmas, fotos. Dá duas récitas: uma na noite de quinta-feira (27), de gala, outra na tarde de domingo (30). É-lhe posto à disposição um camarim forrado a seda e regado a champanhe.
O Presidente da República, general Craveiro Lopes, assiste à estreia. Atinge, acompanhada por Alfredo Kraus, a genialidade, provocando o maior delírio de sempre no nosso teatro lírico.
«Os espectadores dos camarotes e do balcão corriam, em tumulto, até à plateia, para ficar mais perto dela. Então, Maria Callas ajoelhou, deixou cair os braços, curvou profundamente a cabeça, com a longa cabeleira vermelha sobre o peito, e permaneceu assim, estática, numa atitude de beleza inesquecível», descreve Victor Pavão dos Santos.
A ideia da sua vinda a Portugal surgiu durante um jantar no Palácio de Veneza, da marquesa de Cadaval. Conversando com a anfitriã, «manifestou-lhe o desejo de actuar no nosso País». Como pagamento pretendia apenas ser apresentada ao rei Humberto. Semanas depois, José de Figueiredo, director do São Carlos, convida-a formalmente.
Olga de Cadaval oferece-lhe, no dia a seguir à estreia, um banquete na sua Quinta da Piedade, onde se dá o encontro entre o soberano e a soprano.
Gravada em disco, La Traviata de Lisboa far-se-á, mais tarde, um ícone dos seus fãs.
«Parti renascida de Portugal», confidenciará Maria Callas.
As necessidades de deslocação exigidas pelas colónias levaram o Governo a abrir-se a novos, mais rápidos, meios de comunicação. A 14 de Março de 1945, Humberto Delgado criou, depois de vencer a resistência de Salazar, a Secção de Transportes Aéreos no âmbito do Secretariado da Aeronáutica Civil, de que era director.
Outros países estavam a fazer o mesmo.
Inactivos, após o termo do conflito mundial, centenas de aviões de grande porte e milhares de técnicos de grande operacionalidade representavam uma oferta única para o lançamento de companhias e rotas comerciais.
Rapidamente Humberto Delgado aprofunda contactos, compra aparelhos, monta departamentos, lança estruturas. Salazar não leva, porém, muito a sério o entusiasmo do director da Aeronáutica Civil, nem o seu transbordante pró-americanismo — semelhante paixão por máquinas, técnicas, democracias, punha-o desconfiado. Quando lhe apresentam os planos para uma companhia aérea, recua.
Homens como ele, como Duarte Pacheco, como Alfredo da Silva, crispavam-no. As apostas desenvolvimentistas em que se excediam (o primeiro com os aviões, o segundo com os viadutos, o terceiro com as fábricas) enervam-no. Depois de meses de reticências, dá luz verde para a constituição da que será a TAP.
Arrepende-se quando, mais tarde, o barulho dos aparelhos lhe corta, em certas noites, o silêncio de São Bento. Receia que um avião lhe sobrevoe a residência — e a bombardeie. Os jactos põem-lhe os cabelos em pé.
Faz, no entanto, um esforço por vencer a repulsa por eles. Aceita mesmo viajar num. A 27 de Maio de 1966 sobe para o Superconstellation CS-TLF, voo 104, com destino ao Porto, de onde se dirigirá a Braga para discursar nas comemorações do 28 de Maio.
Vejo-o chegar à Portela seguido de um séquito de fiéis, polícias e jornalistas. Todos de preto, como se fossem para um funeral. Senta-se na sala de espera. Responde a repórteres, faz humor com eles.
Quando os passageiros embarcam, sobe as escadas onde é cumprimentado pelo comandante. A partida faz-se com oito minutos de atraso.
Durante o voo não fala. Nem disfarça o mau-estar. Desce no Porto em silêncio. Aos que o aguardam proferirá uma frase em forma de desabafo, naquela voz etérea que raramente ouvíamos, mas que ditava os destinos dos portugueses: «Meus senhores, tenho a dizer que não gostei!», descreve o comandante do aparelho.
«Detestou. Ia enjoando, aliás, o senhor doutor», evocar-me-á Dona Maria, «era muito fraquinho do estômago. Ele quis fazer a experiência para o caso de ter de deslocar-se à África. Mas não resultou. Se se pudesse ir à África de comboio, talvez fosse, ele gostava do comboio. Eu também, é o transporte que prefiro. O barco enjoava-o um bocado. Foi à Madeira e passou bastante mal.»
A TAP transforma-se na melhor companhia de aviação comercial da Europa.
Os seus primeiros pilotos, em número de 11, requisitados às Aeronáuticas Militar e Naval, especializam-se na Grã-Bretanha, passando a ser conhecidos por os Onze de Inglaterra.
Quase ao mesmo tempo, dá-se a abertura do aeroporto de Lisboa, projecto de engenheiros holandeses, com quatro pistas (1000 e 1200 metros) de boa operacionalidade.
O primeiro voo regular é efectuado em Março de 1946 entre Lisboa e Madrid. Meses depois, em Dezembro, inaugura-se a famosa Linha Aérea Imperial, em aviões Dakota (oito), ida e volta Lisboa, Luanda, Lourenço Marques. É a mais extensa que existe no globo: 24 540 quilómetros percorridos em seis dias.
Sucedem-se as carreiras Lisboa-Porto, Lisboa-Paris, Lisboa-Londres. A seguir as viagens para Tânger, Casablanca, Porto Santo, Rio de Janeiro, Bissau, Beira, Santa Maria, Palmas, Funchal. Os voos multiplicam-se por África, América, Europa, índia.
A empresa adquire, em 1947, quatro Skymasters, em 1955, cinco Constellations, em 1962, três Caravelles, em 1965, 12 Boeings 707, em 1967, oito Boeings 727.
A essa frota (de permanente renovação) juntam-se depois 16 Boeings 727, quatro Boeings 747, 25 Boeings 737, sete Tristars, cinco A 310, seis A 320 e, em 1994, quatro A 340.
As baixas por acidente (está à cabeça nos tops mundiais de segurança) são reduzidíssimas: cinco aparelhos durante treinos e um durante uma aterragem no Funchal, em 1977.
Pioneira nos desvios de aviões, a TAP averbaria essa originalidade no ano de 1961 — antes apenas se dera o sequestro de um Catalina entre Macau e Hong Kong, em 1948 —, quando cinco desconhecidos, chefiados por Palma Inácio, obrigam o Superconstellation que viajava de Casablanca para Lisboa a alterar a rota.
«Tratou-se de nos fazer voar baixo sobre Lisboa, Barreiro, Beja e Faro, a fim de lançarem um manifesto de oposição ao sistema que nos governava, e de voltar a Tânger, onde o grupo de assalto desembarcaria, libertando o avião», evoca o seu comandante, José Marcelino. «Voei em voo rasante todo o percurso para evitar a cobertura do radar de detecção. As minhas preocupações confirmaram-se quando tivemos conhecimento da ordem dada de se abater o aparelho caso não se conseguisse fazê-lo aterrar em território nacional.»
A saga africana, a primeira viagem de estudo ao Brasil, em 1955, com Gago Coutinho (aos 86 anos), a bordo, o último voo de Goa, em 1961, com o avião metralhado pelos invasores, a ponte aérea de Luanda, em 1975, com milhares de retornados em fuga («a bordo caíam ora em prostração, ora em desespero», recorda o chefe de cabina António José Fontainhas, que teve então um papel de notável acompanhamento humanitário), foram momentos angulares na história ascendente da TAP.
Salazar parecia por vezes uma criança mimada», comenta Jorge Pablo. «Era uma questão de saber dar-lhe a volta.» Não foi preciso dar-lha para a construção do metropolitano. Pelo contrário, ele foi o motor do seu projecto e arranque, chegando a convencer, pessoalmente, os mais relutantes.
Numa viagem aos Países Baixos, ainda professor, passara dois dias em Paris. O «comboio subterrâneo», como o designava, fascinara-o. Era o meio de transporte ideal para as cidades: rápido, barato, cómodo, asseado, protegido das intempéries e dos engarrafamentos. As suas galerias bem iluminadas e decoradas, faziam-no uma espécie de «palácio dos pobres».
O que inaugurará em Lisboa não o será, porém. A falta de meios reduziu-o a uma construção apagada, sem qualquer semelhança com os das capitais europeias. «Um casebre ao lado de um castelo», ironizava Fernanda de Castro.
«As possibilidades do tesouro não são elásticas», justificava Salazar.
A parte principal das verbas investidas contava com o Plano Marshall, que o regime, depois de ter recusado, acabara por solicitar.
António Ferro consegue dar, no exterior, uma imagem gratificante do País. Referências a Portugal aparecem (destacadas por frequentes enviados/convidados) na grande imprensa da época.
Feiras de artesanato, mostras de arte, actuações de grupos de folclore (o Verde Gaio suscita admirações entusiásticas), embaixadas de artistas (Amália torna-se uma sedução), de desportistas, intensificam-se por várias capitais.
Em simultâneo, surgem no interior iniciativas de recuperação da criatividade popular. Expressões de artesanato passam a ser impulsionadas a vários níveis.
Monsanto é eleita a aldeia mais portuguesa de Portugal. As pousadas fazem emergir edifícios de bom recorte arquitectónico. A Exposição do Mundo Português, o Portugal dos Pequenitos, as feiras gastronómicas, os concursos literários, os painéis de Almada, constituem-se referências.
Salazar, a quem só interessa o turismo de qualidade, quer que os que nos visitem o façam devagar, apreciando as paisagens, a cozinha, os monumentos, os museus, a cultura, as festas, a harmonia do País.
«Quando se desce da capital à província, da cidade à aldeia, da redacção do jornal, do salão de festas ao campo, à fábrica, à oficina, o horizonte das realidades sociais alarga-se a nossos olhos», explica, «e tem-se uma impressão diferente do que seja uma nação.»
O estadista, que intui a importância da televisão, toma perante ela uma atitude distanciada. Autoriza-a com reservas, após pressões crescentes de Marcello Caetano.
O modelo adoptado para a RTP será, no entanto, «o protocolar, o oficioso, o determinado pelas estruturas censórias e persecutórias do regime», anota o historiador Francisco Rui Cadima. Modelo idêntico, afinal, ao da rádio e da imprensa estatizadas.
É pela ausência que o presidente do Conselho chega ao imaginário do pequeno ecrã. Não será, com efeito, o seu corpo, o seu verbo, que surgirão, mas o corpo, o verbo, de outros em representação do seu.
Ele afirmou-se, impôs-se sempre por ricochete. Por projecções. A sua visibilidade não era localizável, aferível, mas difusa, omnipresente. Dela apenas se conheciam reflexos, temperaturas, sombras — máscaras.
As suas grandes entrevistas são dadas a periódicos estrangeiros — para os nacionais reproduzirem com minúcia; a sua biografia íntima é confiada a uma francesa — para, ao ser traduzida, ser dilatada.
Tudo o que vem de fora, de cima, torna-se aos nossos olhos, só por o vir, credibilizado, reverenciado, sabe-se. Salazar jogou milimetricamente, inteligentemente, nisso.
«Os mitos, ao contrário das verdades, não dependem da evidência dos factos. Existem e robustecem-se porque qualquer evidência racional mínima é capaz de os sustentar», observa Fernando Martins. «Têm a grande capacidade de produzir a multiplicação de factos inverosímeis ou absolutamente falsos.»
A postura severa, o ar altivo, correspondiam ao modelo do grande governante na época, a época do poder-pai (Sidónio, Salazar) e do poder-mãe (D. Carlos, Thomaz).
A essa matriz sucederá a do poder-irmão (Guterres e Sampaio); depois da «Pátria e da Mátria teremos», antevia Natália Correia, «a Frátria».
Salazar parece, por vezes, saído de uma peça de Shakespeare. É um ser que transporta o mistério — e quem o transporta mostra-se indefinido e trágico, e implacável, tudo sacrificando a ele, ao que identifica com ele.
Os filhos da arraia-miúda costumam, quando se destacam, sofrer discriminações (classistas) generalizadas: dos aristocratas, o desdém pela falta de berço; dos burgueses, a insolência pela falta de meios; dos intelectuais, o menosprezo pela falta de citações; dos extremistas, a intolerância pela falta de radicalismo.
Consciente desse desconforto, Salazar distanciou-se. «Ele foi recebido primeiro com expectativa, depois com ironia e incredulidade. Ninguém o via na rua, num teatro, numa festa. Dir-se-ia dirigir os negócios do Estado do fundo de uma guarita ou do fundo de uma cela. Quem nos governa? Uma realidade ou uma sombra?», interroga, interroga-se António Ferro.
Para o presidente do Conselho, a previdência, a solidariedade deviam, dadas as características económicas, culturais, históricas, afectivas, psicológicas, do País, assentar na família (parentes, amigos, vizinhos), nas instituições (religiosas, patronais, corporativas) e nos organismos do Estado.
Só desse equilíbrio resultaria uma verdadeira justiça social, acima das dependências do erário público e das caridades das bolsas privadas.
Nenhuma das componentes funcionou (sobretudo a atribuída ao empresariado) capazmente. Apenas a CUF, de Alfredo da Silva, se tornará uma excepção.
Indivíduo invulgar, venerado e temido pelos que o conheceram, aquele industrial marcou a primeira metade do século XX. Os sectores onde interferiu — banca, indústria, comércio, agricultura, construção naval, transportes, seguros — deram, pela sua acção, um salto para a modernidade.
Para alguns, ele é «um génio do desenvolvimento económico»; para outros, «um pai dos operários», popular e despótico, generoso e inacessível.
«Revela-se o primeiro empresário português a demonstrar que é possível», dirá Jorge Botelho Moniz, «haver indústria no País»; a revelar que «a assistência social é um dos alicerces» da vida comunitária.
Revela-se, igualmente, o primeiro empresário a pagar salários altos entre nós, a criar bairros operários, a estabelecer assistência médica, a fundar escolas, a montar refeitórios económicos, a organizar cantinas, creches e bibliotecas, a conceder reformas e subsídios.
Sentia prazer em exibir posições contrárias às dominantes. O seu domínio influencia cada vez mais sectores, populações, recursos, mercados. Os homens da política assediam-no. Salazar convida-o para procurador à Câmara Corporativa.
O ritual do poder torna-se-lhe um poder. Exerce-o com mestria junto dos que lhe estão, na política, acima e, nas empresas, abaixo. Enfrenta ministros e protege operários, umas vezes, apoia a autoridade e reprime a contestação, outras.
Elegante de pose, usa rosa na lapela, chapéu de palhinha, bengala de prata, charuto de importação. Faz-se acompanhar de secretária francesa e cadelinha rafeira - a que se afeiçoara quando, abandonada numa rua de Lisboa, ia sendo atropelada pelo seu motorista. Gosta de aparecer de surpresa nas fábricas, de entrar nelas ao arrepio dos responsáveis, de surpreender os trabalhadores, de falar-lhes, de pôr-se do seu lado contra prepotências de superiores.
Por inteligência, por perspicácia, desenvolve nas suas unidades novos tipos de protecção, de incentivo. A cultura de empresa, que o neocapitalismo consagrará décadas depois, germina e decanta-se com ele.
O seu império torna-se o maior da Península Ibérica. Tem fábricas em Alferrarede, em Mirandela, em Canas de Senhorim, no Porto, em Soure, em Lisboa, no Barreiro, que empregam dezenas de milhares de pessoas — e mudam por completo a paisagem onde se instalam.
Alfredo da Silva sofre duas tentativas de assassínio, uma a tiro, outra a bomba, durante greves gerais. Dois anos mais tarde é alvo, na estação de Leiria, de novo atentado. Ferido, vai convalescer para Espanha, de onde dirige durante algum tempo os negócios.
Produzir em Portugal o que Portugal importa, sobretudo a nível da agricultura, é um objectivo seu — que soa como música a Salazar.
Novas unidades, novos produtos, novos mercados, novas redes transportadoras e distribuidoras surgem. Um verdadeiro conglomerado económico, comercial e industrial cresce e autonomiza-se.
O País passa a bastar-se a si mesmo em sulfatos, enxofres, óleos alimentares, sabões, velas, tecidos de grossaria e reparações navais.
Para Salazar aquelas eram iniciativas privadas que, em princípio, não o inquietavam. Pelo contrário, via nelas uma função reequilibradora — sem custos para o Estado nem sobrecarga para as instituições — das crescentes necessidades sociais.
Adversário da industrialização descontrolada (pelo reforço da classe operária e das reivindicações sindicais), agradava-lhe a preocupação que os administradores da CUF assumiam relativamente ao bem-estar, à harmonia, dos seus empregados e famílias.
«A época que estamos a viver decorrerá», diz num discurso, «sob o tríplice signo da autoridade, do trabalho e da preocupação social. Nenhuma nação se poderá eximir à autoridade forte; nenhum homem ao dever do trabalho; nenhuma actividade ou riqueza ao critério da sua utilidade social. Nós não poderíamos aceitar que as necessidades económicas sejam o princípio básico de organização das nações ou das empresas.»
A maneira de ser extrovertida e popular de Alfredo da Silva, e a sua tremenda imprevisibilidade, confundiam, porém, frequentemente o presidente do Conselho.
Ele movimentava-se demasiado depressa para o seu gosto. Queria demasiadas coisas ao mesmo tempo, estava fora do ritmo do País, da maneira de ser — com as suas exigências de produtividade — do povo português. Um povo lento, triste, resignado, frugal.
Detinha cada vez mais poder e isso preocupava-o. Sectores-chave caíam sem cessar nas suas mãos impondo o económico ao político. Por outro lado, Salazar teme que a CUF se torne em África, nas pacatas colónias portuguesas, um elemento de perturbação.
O desaparecimento de Alfredo da Silva aquieta-o. A sua substituição por Manuel de Mello sossega-o: acha-o mais enraizado na realidade e no tempo portugueses.
«O senhor professor tinha muito medo dos empresários que queriam mudar tudo a correr. Isso podia ser a desgraça dos que, levados pela ambição, trocavam a vida dos campos pela das fábricas. Ele não queria para nós o exemplo das sociedades do lucro nem das do comunismo. Detestava a Rússia e a América», refere-me Maria de Jesus.
Um dos esforços mais exercitados publicamente pelo Estado Novo foi o de não deixar emergir ilusões sobre o nível de vida económico reservado aos portugueses.
Nação pobre e periférica, a nossa, não suportaria veleidades consumistas como as que, a partir do pós-guerra, passaram a vigorar nas democracias liberais europeias. Reivindicá-las (como exigiam os críticos do regime), desfrutá-las (como praticavam os filhos dos situacionistas), era pôr o País acima das suas possibilidades, comprometendo-lhe a independência e o futuro. «Não será no nosso tempo, nem talvez no próximo século, que convergiremos com os restantes estados do Velho Continente. Desengane-se quem pense o contrário», desabafava. «Se perdermos África, será uma tragédia. Por isso, o grande desenvolvimento tem de ser feito lá, não cá, o que estamos a intensificar sobretudo desde que a guerra começou.»
Num discurso a jovens estudantes, preconiza: «Assistimos a uma das grandes viragens da História. Os tempos tranquilos de vida fácil, de ideias incontestáveis, de ordem imperturbada, de negócios correntes, de trabalho assegurado, e até de ócio assegurado, são findos. É o mundo que desaba, não o exterior mas o das nossas ilusões, dos nossos desejos, dos nossos interesses, dos nossos egoísmos, dos nossos hábitos, dos nossos sentimentos, das nossas ideias, das nossas relações com o semelhante.»
Pretendeu tornar a pobreza honradez para os desfavorecidos, a riqueza dissimulação para os privilegiados. Uma cultura, uma religião, uma filosofia, um comportamento, condizentes com esse modelo (há sempre intelectuais a sancionar todos os tipos de ideologias) emergiram e impuseram-se.
Estudos estatísticos referentes a 1967 e 68, os últimos anos da governação de Salazar, revelarão que «os desnivelamentos sociais portugueses eram idênticos aos da média europeia».
A nossa sobrevivência assentava na modéstia das ambições, escorada num funcionalismo público (mal pago mas estável), num comércio de bairro (sustentáculo das famílias urbanas), numa agricultura de subsistência (esteio das rurais), e numa emigração escondida, com remessas, no entanto, de cada vez maior significado.
A inexistência de subsídios de doença, invalidez e desemprego, de assistência social e médica, de reformas (generalizadas) de velhice, atirava os desfavorecidos para fora das obrigações do Estado, entregando-os ao voluntarismo das comunidades.
Querendo a todo o custo armazenar reservas, Salazar encarrega um dos vice-governadores do Banco de Portugal de fazer com que a Alemanha (à Inglaterra não põe essa exigência) pague o que nos importa em barras de ouro.
O pedido é satisfeito através da banca suíça. Para Hitler, os produtos que lhe chegam do nosso País (volfrâmio, estanho, alimentos, roupas, calçado) são cada vez mais preciosos.
Determinado, o presidente do Conselho vai mais longe: oferece-se para intermediar pagamentos do Reich, também em ouro, a países da América Latina.
No encerramento das contas de 1944, Portugal averba nove milhões em divisas e 6,98 milhões em metal precioso. Sente-se eufórico. A proveniência de tal património deixa-o indiferente.
«O senhor doutor dizia que o dinheiro era uma coisa suja, que estava sempre manchado de sangue, de miséria, de lágrimas... mas que não podia fazer nada. Ele nem gostava dos ricos!»
As palavras da Governanta (proferidas a propósito de corrupções de vultos do regime de então) ganham, quando se fala no ouro nazi (nessa altura não se conhecia a expressão «lavagem de dinheiro» da droga), ressonâncias surpreendentes.
«Os homens mudam pouco, e então os portugueses quase nada. Às vezes leio o padre António Vieira e vejo que ele se permitia observações à vida política e à administração pública, críticas e audácias que eu não sei se a Censura as permitiria hoje no Diário de Notícias», provoca.
Quem não é livre, e Salazar não o era, dificilmente suporta a liberdade nos outros. Foi o que lhe aconteceu, «auto-ilibando-se» numa ideologia justificadora de repressões sem limites: «A autoridade que se não exerce, perde-se. Prefiro ser temido a amado.»
Para ele a realidade não importava; o que importava era a sua reformulação de acordo com as projecções a ficcionar - quase sempre pela força.
Uma espécie de impaciência surda tomava-o contra os que, na sua visão, traíam os pilares divinos do País corporizado no regime que construiu como um castelo, uma pirâmide. Ele sabia-se (falsa era a sua sentida humildade) um eleito pelo destino, fruto de conjugações de astros que impressionavam, nas linhas estreladas da sua mão, os decifradores de mistérios.
Frequentemente, essa impaciência surda transformava-se em obsessão de dúplices atrocidades - voluptuosidades? Como as dirigidas contra o general Marques Godinho, um fiel caído em desgraça. Ex-governador dos Açores viu-se preso em 1947 por decisão de Santos Costa, titular da pasta da Guerra, que o mandou enclausurar e torturar no forte da Trafaria. Ao que se afirma, o detido negara restituir-lhe cartas manifestando simpatias por Hitler — derrotado dois anos depois de lhas ter endereçado. Cardíaco e enfermo, o general morreria em grande sofrimento no Hospital Militar da Estrela.
O chefe do Governo recusou todos os pedidos de clemência (e justiça) recebidos. A viúva e o filho da vítima foram igualmente detidos, bem como o seu jovem advogado, o futuro ministro do Ultramar, Adriano Moreira.
Uma das críticas que mais atingiram Salazar seria a que lhe endereçou Paiva Couceiro, vulto intocável na História do País. Católico e monárquico, o herói das campanhas de África acusava-o de seguir uma política onde «velava a polícia e o lápis da Censura», que pôs «a Pátria portuguesa em estado de catalepsia colectiva».
Querendo mostrar que para si não existiam intocáveis nem impunes, o chefe do Governo, afivelando a máscara do sinistro, ordena que o expulsem e abandonem, sem documentação, fora do território nacional.
O banimento infligido aos adversários, o incentivo à tortura física e psicológica (e ao assassínio) pelas polícias, a prisão perpetuada pelas revogações arbitrárias das «medidas de segurança», a marginalização e o exílio de intelectuais, cientistas, políticos, militares, sacerdotes, professores, a censura sistemática à imprensa, espectáculos, livros, discos, filmes, constituíram o lado obscuro, redutor, de Salazar.
«Há seres que não são dotados para a vida», escreveu um dia — dirigindo-se a si?
Intimamente, secretamente, sentia-se aliviado quando opositores de destaque fugiam do País — como se eles se diluíssem com a distância na sua memória.
Foi assim com Cunhal, Galvão, Delgado; foi assim quando fez expulsar Jaime Cortesão, Agostinho da Silva, D. António Ferreira Gomes, Mário Soares.
Parecia que todos, amigos e inimigos, conhecidos e opositores, todos os que o adulavam, o enfrentavam, eram máscaras suas, personas a quem distribuía papéis rigorosos para rigorosamente as encenar.
A piedade revelava-se, aprendera cedo nos clássicos, funesta, tal como a paixão, «o maior mal que atinge os homens».
A PIDE, que sentia com frequência dificuldades em entendê-lo, fornecia-lhe, entretanto (refrescando-o), inimigos renovados, que ele tratava, deixava tratar, impassivelmente.
Eram sequelas de «sadismos mal-encarados» dos «tempos do seminário e da marginalização social», comentava Bissaya Barreto, que todas as semanas vinha de Coimbra almoçar aos sábados com ele — e conviver com companheiros (maioritariamente da oposição) do Grande Oriente Lusitano.
Cerejeira, por sua vez, reconhecia: «A frieza de Salazar oculta uma sensibilidade quase doentia, é um escudo de defesa seu... trata-se de um homem de grandes coisas e de pequenos pormenores, da bondade mais tocante e da dureza mais inesperada.»
Os primeiros tempos de Lisboa e de governo foram-lhe bastante ásperos. Com frequência ripostava aos que o contrariavam, intrigavam: «Se não quiserem, há todos os dias um comboio para Santa Comba Dão.»
A um coronel de cavalaria, membro do Governo, que dizia ao seu secretário, quando o mandava com documentos ao ministro das Finanças para assinar, «leve esses papéis à sacristia», Salazar, depois de os rubricar, entregava-os ao portador ordenando: «Faça favor de devolver essa papelada à cavalariça.»
A auréola de implacável começou a popularizar-se quando, titular das Finanças, saiu uma madrugada do seu gabinete no Terreiro do Paço, atravessou o Tejo, tomou uma camioneta e desembarcou em Setúbal, cujo chefe de Finanças caprichava em chegar tarde, em faltar, em não atender os que o procuravam, etc.
Salazar entrou, sem ser reconhecido, no edifício às nove horas em ponto e sentou-se num banco corrido, depois de dizer ao contínuo que pretendia falar com o responsável pela repartição. Esperou. Perto do meio-dia, aquele surgiu e logo mandou dizer que não tinha tempo para atender os presentes. Salazar levantou-se, abriu a porta, sem bater, identificou-se e, ante o esgar aterrorizado do homem, obrigou-o a redigir o pedido de demissão da função pública. Convenientemente canalizada para os jornais, a notícia esbugalhou nos dias seguintes os olhos do País.
Aos que, na época do nacional-exibicionismo, o tentavam aliciar para as roupagens (azuis) do seu movimento, demoveu-os sem hesitações: «Se tivesse de aparecer em público com uma camisa dessas, morria de vergonha!»
Farto de um engenheiro que, subservientemente, o incensava enquanto o ciceronava numa visita à barragem de Castelo de Bode, disparou-lhe apontando uma árvore: «Olhe como é bonita esta amoreira.» De imediato o outro anuiu: «É de facto uma linda amoreira.» Rápido, Salazar retorquiu: «Não é uma amoreira, é um carvalho. Os senhores da cidade não são capazes de distinguir as árvores.»
Havia nele «muita subtileza, muito pudor», observará Mário de Figueiredo. «Por vezes, também, muita ironia.»
Surpreendia, com frequência, pelo seu desassombro: «A máxima parte dos conhecimentos que adquirimos, sobretudo nos estabelecimentos de ensino, são perfeitamente inúteis. A superioridade pertence aos que, estudando pouco nos livros das aulas, aprendem a ler mais nos livros da vida. Eu sinto uma simpatia imensa pelo cábula inteligente das escolas portuguesas. O essencial não é saber as coisas, mas saber raciocinar sobre elas. O conhecimento, a cultura, não servem para mobilar um espírito mas para formá-lo.»
Detestava fazer remodelações governamentais, pois elas significavam, em termos públicos, que errara na escolha dos seus elencos, ideia que lhe era extremamente desconfortável. O regime que encarnava não podia mostrar falhas.
Amigo sincero, apesar de divergentes políticos, do Prof. Francisco Gentil, fundador do Instituto Português de Oncologia, assegurou-lhe, num momento de crise aberta no interior do hospital, que jamais consentiria que o substituíssem no seu cargo: «Enquanto eu for Governo, o senhor será o director. Ninguém o tira de lá. Agora, quando forem os seus correligionários a mandar...»
A democracia consistia, segundo ele, «no nivelamento por baixo e na recusa de admitir desigualdades naturais», ou seja, «em acreditar que o poder encontra a sua origem na massa e não no escol. Por isso considero-a uma ficção. Não creio no sufrágio universal, porque o voto individual não tem em conta a diferenciação humana».
O liberalismo capitalista não passava, de acordo com as suas palavras, de «uma mentira», pois «a liberdade que não se inclina perante o interesse nacional destrói a Nação. Dir-se-ia, aliás, que alguns países parecem fatigados da sua existência como estados independentes».
Não foram os responsáveis pelo Estado Novo quem criou os três «efes» — Fado, Futebol e Fátima — que rotularam o antigo regime.
Salazar menosprezava-os até. Na sua visão, o fado «amolecia as pessoas», o futebol «infantilizava-as» e Fátima (em que não acreditava) «alienava-as».
Não frequentava, aliás, nenhum deles, a não ser em circunstâncias excepcionais. Aproveitou, porém, a sua força aglutinadora com grande eficácia, antevendo a utilidade (a perigosidade) dos fenómenos e das pessoas massificadoras. Incluiu Amália em recepções do Estado, proibiu a ida de Eusébio para clubes estrangeiros e só por questões protocolares se deslocava à Cova da Iria.
«Cortejos e procissões / Fátima, fados e bola / São estas as distracções / De um País que pede esmola», cantava-se pelas esquinas.
Os «efes» em causa acabaram, no entanto, por tornar-se uma tríade emblemática quer do regime, quer da oposição — surpreendentemente fortalecida (caso do futebol) depois do 25 de Abril.
Nos momentos de descontracção, Salazar entretinha-se a confundir os próximos engendrando enigmas imprevisíveis. Dias Pablo, que lhe conhecia bem «os heterónimos», como designava as suas várias facetas, ajudava-o na propalação das insinuações mais atrevidas, para arrelia surda dos ministros e deleite ingénuo dos adversários.
Foi ele quem pôs a circular a história de que, em reunião do Executivo, o presidente do Conselho havia decidido, ante a alternativa de cortar verbas ou no aquecimento das escolas ou das prisões, fazê-lo nas primeiras.
Aos governantes estupefactos, justificaria: «Para onde pensam os senhores que nos mandarão se formos apeados do poder? Para a escola?»
Após conhecer pessoalmente Salazar (que combatera durante anos), o sociólogo brasileiro Gilberto Freyre anota em livro de memórias ter-se-lhe ele revelado «o homem mais ágil de olhar, mais agudamente vigilante, mais decididamente atento que tenho conhecido. Fala com uma franqueza, uma nitidez, um desassombro que não se assemelha a um político mas a um intelectual». As suas mãos («às vezes parecem mais de mulher do que de homem») impressionam-no especialmente.
«O período a que cabe a designação de salazarismo revela-se o último em que merecemos o nome de nação independente», sintetizará António José Saraiva, um dos mais notáveis historiadores, professores, pensadores, escritores, ensaístas, filósofos, do século XX. Perseguido pelo Estado Novo, teve de deixar o País, só regressando depois do desaparecimento do ex-presidente do Conselho. «Ele foi, apesar das discordâncias que me mereceu, um dos homens mais notáveis da História de Portugal», sublinha. «Quem lê os seus Discursos e Notas fica subjugado pela limpidez e concisão do estilo, a mais cativante prosa doutrinária que existe na nossa língua, atravessada por um ritmo afectivo poderoso. A prosa de Salazar merece um lugar de relevo na literatura portuguesa. É uma prosa que guarda a lucidez da grande escrita do século XVII, donde é banida toda a nebulosidade, toda a distracção, toda a frouxidão, tudo o que frequentemente torna obscura ou despropositadamente ofuscante a escrita dos nossos doutrinadores».
O projecto de criação do ensino superior em Lourenço Marques e Luanda, lançado por Salazar, «gerou polémicas terríveis», rememora-me Veiga Simão, um dos seus impulsionadores. «O governador de Moçambique opunha-se-lhe porque achava que ele devia ser centralizado e Adriano Moreira, ministro do Ultramar, defendia a sua abertura.»
Em Coimbra, onde leccionava, Veiga Simão faz, entretanto, e para pressionar os acontecimentos, aprovar no Senado uma moção desafiando os responsáveis a criar universidades ultramarinas e a ultrapassar as forças conservadoras que as achavam núcleos de perigosos progressistas.
«Salazar pegou no meu repto, deu-lhe luz verde e estabeleceu que o núcleo de Luanda tivesse como reitor um catedrático de Lisboa e o de Lourenço Marques um de Coimbra. Designaram-me, por conhecer bem a zona, reitor dos Estudos Gerais de Moçambique. Para esvaziar o conflito, o presidente do Conselho demitiu, pouco depois, o governador e Adriano Moreira. Sem o Adriano Moreira não me interessava, porém, ir. Preferia radicar-me nos Estados Unidos para investigar a estrutura nuclear, tema da tese do meu doutoramento em Cambridge. Só que Salazar chamou-me e disse-me: "Doutor Simão (como se sabe os professores de Coimbra são tratados por doutores), dizem-me que o senhor está a pôr dificuldades à sua nomeação lá para baixo..." Apresentou-me dois argumentos indiscutíveis: "Não foi o doutor Simão quem desafiou o Governo a criar os Estudos Gerais? Então agora, depois de o conseguir, desiste?" E antes que eu respondesse, acrescentou: "Lembre-se de que muitos dos seus colegas (eu tinha 33 anos) estão a combater em África, ao serviço da Pátria." Acedi com o seu compromisso de me ajudar pessoalmente a enfrentar os vícios da administração ultramarina, que criavam imensas dificuldades a um trabalho como o que me era pedido. Sem o seu apoio, disse-lhe, não iria concretizar nada. Então ele combinou comigo: "Doutor Simão, sempre que venha ao Continente escreva-me um bilhetinho que tenho muito gosto em conversar consigo." Assim fiz. Eu chegava, ficava no Hotel Suíço Atlântico, e mandava-lhe um cartão a São Bento dizendo que ia demorar tantos dias e que precisava de tratar deste e daquele assunto. Respondia-me prontamente, encontrando-nos com toda a cordialidade. Informava-se de tudo, gostava de saber tudo. Se não fosse a sua intervenção, as forças conservadoras tinham destruído as universidades ultramarinas, pois consideravam-nas focos de subversão. Curiosamente ele não as considerava. Deu-me até a sensação do contrário. O seu apoio fazia-se, no entanto, discretamente, até porque eu não lhe escondia as minhas ideias a favor da democracia, fruto da formação que tive na Grã-Bretanha. Achava graça a essas minhas ideias. Divertia-se com o que eu lhe dizia, com os modos como eu o contrariava, com a maneira como eu iludia os seus representantes em Moçambique.
Que se vingaram de mim. Os meus discursos eram censurados, cheguei a ser ameaçado pelo governador de expulsão do território. Eu estava, segundo ele, a incendiar a província. Ironizando, comentei-lhe um dia: "O senhor governador vai virar célebre porque reprime actos que nós queremos fazer de apoio ao Governo na sequência da ajuda que ele nos dá." Horas depois o homem recebia, por telefone, ordens superiores a meu favor. Eu tinha, além disso, grande apoio dos portugueses e dos indígenas de lá, apoio que me levou a estar não os dois anos inicialmente previstos, mas sete. Não foi nada fácil convencer Salazar a deixar-me regressar. Só o consegui depois de um encontro de quatro horas... Ele entendia que era necessário assumir a progressiva evolução de África. O problema residia no conceito que tinha do ritmo a imprimir aos passos dessa evolução. Era tudo bastante complicado. Pessoalmente fiz os avanços que pude. A gente mais modesta de Moçambique olhava para a universidade como uma pequena janela por onde os seus filhos (os não brancos, isto é os negros, os indianos e os chineses andavam à volta de dez, onze por cento) poderiam ascender na vida, já que não dispunham de meios para os mandar estudar fora. Os guerrilheiros e os independentistas não perturbaram nunca o nosso trabalho. O Presidente Chisssano chegou até a fazer-lhe, mais tarde, um elogio.»
A partir de 1963, e por influência de Costa Gomes — dos pouquíssimos militares que Salazar respeitava, apesar da sua conivência em várias tentativas para o derrubar —, contactou o governador de Angola, coronel Silvino Silvério Marques, para aceitar um pedido de negociações feito por Agostinho Neto.
Realizaram-se encontros em Kinshasa destinados a preparar uma cimeira na zona de Cabinda. Percebendo, porém, que lhe seria impossível controlar os acontecimentos, o presidente do Conselho, avisado por Costa Gomes, mandou anular as operações.
Quando se viram investidos nos seus poderes supremos, Gonçalves Cerejeira (cardeal-patriarca) e Oliveira Salazar (primeiro-ministro) alteraram as relações pessoais criadas em Coimbra.
Convencidos, ambos, de terem sido imbuídos de missões excepcionais, actuaram nesse sentido, ora com subtileza, ora com dureza incomuns.
As cartas pessoais foram, como era então usual, o grande meio de comunicação entre eles: abundantes e pormenorizadas as do primeiro, secas e parcas as do segundo. Conhecendo-o como poucos, o cardeal tentou pressionar o presidente do Conselho tomando em relação a ele atitudes "maternalistas", de aliciamentos e coacções, incensando-o, convocando-o permanentemente. «Ovelha difícil», «infeliz e solitário», «sensível e duro» eram expressões com que Cerejeira, sob a capa da bonomia, o caracterizava. Desse modo foi conseguindo, à sua maneira, reedificar a arquitectura da Igreja portuguesa, gravemente fendida pelo terramoto anticlerical da pós-implantação da República.
As elites católicas temiam, sobretudo, que o chefe do Governo escapasse ao seu «controlo» e instaurasse um Estado totalitário, onde a Igreja perdesse, como acontecia nas ditaduras fascistas, nazis e comunistas, influência. O ideal para essas elites era que o Estado português fosse «autoritário mas não totalitário».
Consegui-lo, tornou-se a grande (secreta) missão (semi-lograda) de Cerejeira.
O primeiro esfriamento entre os dois dá-se cedo, depois de chegarem a Lisboa, quando o cardeal recusa o convite do amigo para continuarem a viver num mesmo edifício, com a mesma governanta — a fiel Dona Maria de Jesus Caetano.
Quem pressionava, no entanto, quem? Determinados, os dois líderes conheciam a fundo o jogo um do outro. A sua disputa foi uma interminável partida de xadrez, na qual Cerejeira levou a melhor na primeira parte, e Salazar na segunda.
A Igreja sempre foi, aliás, para o chefe do Governo um trampolim, como todas as outras instituições (Monarquia, Forças Armadas, Parlamento, tribunais, etc), a cujo poder fingia submeter-se para melhor o aproveitar — dominar.
Das vitórias averbadas por Cerejeira destacam-se a introdução do ensino religioso nas escolas públicas, a oficialização dos dias santos como feriados obrigatórios, o fortalecimento da Acção Católica, a liberdade financeira da Igreja e a criação da Universidade Católica.
Luís Salgado de Matos escreve que Salazar confrontara pessoalmente o seu antigo companheiro:
«Manuel, os nossos destinos separam-se completamente. Eu defendo os interesses de Portugal, os da Igreja só contam para mim enquanto se conjugarem com aqueles.»
A Concordata e a Acção Católica (ou seja, a ameaça de as suspender) constituirão os seus maiores trunfos sobre o poder religioso. O Patriarcado e o Vaticano sabem-no e acatam-no. Isso sucederá, por exemplo, quando ele exige que a Santa Sé afaste o bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, e que o Papa não visite, em Goa (depois da perda dos territórios portugueses da índia), o túmulo de São Francisco Xavier. Submissamente, Cerejeira e Paulo VI satisfazem as suas imposições.
Deveu-se à ousadia dos dois o ter-se deixado de trabalhar aos domingos. Enfrentando pressões do patronato, Salazar, apoiado por Cerejeira, proibiu a violação, na altura (anos 30 e 40) corrente, do descanso dominical.
«O trabalho em excesso afasta o povo da Igreja», escreve o cardeal; daí «tornar-se necessário» estabelecer datas de «repouso obrigatório», coincidentes com as celebrações religiosas tradicionais. «Importa pôr o ritmo da vida nacional», especifica, «de harmonia com o ritmo da vida cristã. É um escândalo um País católico não respeitar os dias santos. Isso ajuda à descristianização geral dos costumes. A salvação da alma portuguesa assim o exige.»
Assim se fez.
O patriarca elabora, pelo seu próprio punho, uma lista com as datas pretendidas, que envia, a 9 de Novembro de 1949, ao presidente do Executivo. Tentando esvaziar as oposições dos discordantes, sobretudo o patronato, é estabelecido que os feriados civis não impliquem paragens no trabalho: «Para os assinalar bastavam o hastear da bandeira nos edifícios públicos, comemorações nas escolas, iluminação dos monumentos, concertos nos quartéis, etc», pormenoriza-se.
Alguns de matriz profana, caso do 5 de Outubro, podiam ser eliminados.
A o mudar-se para o palacete de São Bento, adaptado e redecorado por Raul Lino, Salazar manda instalar dois contadores: um para a energia do rés-do-chão (zona de trabalho oficial), a ser paga pelo Estado, outro para a do primeiro andar (zona de residência pessoal), a ser saldada por si. O mesmo se passava com a água, o combustível e os telefones. «O senhor doutor insistia connosco na necessidade de pouparmos, de não cedermos à tentação de querer o inacessível», rabujava-me Dona Maria espartilhada pelos orçamentos domésticos de São Bento: «Moía-nos todos os dias o juízo com o perigo das promessas de bem-estar impossíveis de conseguir. Danava-o não poder acabar com tais demagogias, nem com a avidez dos ricos. A maior parte dos que o rodeavam eram insaciáveis de ambição. Para que o povo o não soubesse, a Censura tinha de intervir, mas não adiantava grande coisa. Quando eu saía à rua as pessoas queixavam-se muito, contava-lhe isso, ele ouvia, às vezes tomava notas, só que não servia de grande coisa. Os galifões da PIDE, da tropa, da política, do dinheiro, todos palavrinhas mansas pela frente, enganavam-no permanentemente. De certo modo, era-lhe bem feito, pois tinha a mania que controlava tudo... quem é que o mandou ficar no Governo até tão tarde? Não escutava os amigos que o aconselhavam a ir descansar, como o doutor Mário de Figueiredo, o doutor Bissaya Barreto. Sempre casmurro, só ouvia o que lhe convinha. Bem fez o cardeal Cerejeira, que resignou na altura certa. Se ele estivesse vivo e no poder também não teria havido o 25 de Abril. Sabia actuar a tempo, nos momentos certos, sem hesitações, desde Coimbra que se tornou obstinado, quem o traía escusava de contar com o seu perdão. Não se importava que discordassem de si, mas dentro das regras estabelecidas. Por ele, claro. Os que as não acatavam não lhe mereciam condescendência, caíam sob a alçada da PIDE, eram presos, desterrados, essas coisas. Recebia muitas cartas de mulheres e mães de condenados a suplicarem piedade. Não lhes reagia. Quando se tratava de conhecidos meus eu pedia, sem ele saber, ao major Silva Pais que, dentro do possível, interviesse. Atendia-me com frequência. Pessoa sensível, sofreu muito com a fuga da filha para Cuba. Acho que a sua influência na polícia diminuiu a partir daí, embora continuasse como seu director. O homem-forte passou a ser, nos bastidores, o Barbieri Cardoso. O senhor doutor procedia como se nada tivesse acontecido, mas entre nós apiedava-se com as aflições do pobre major e desgraçado pai. Os católicos progressistas fizeram-se, depois dos comunistas, o grupo que o senhor doutor mais detestava. Considerava-os mesmo uns oportunistas porque não se assumiam frontal-mente contra ele. Esses católicos provinham quase todos de famílias de posses, feitas com o regime. Como não queriam comprometer-se armaram-se em contestatários, sabendo que tinham as costas quentes. O cardeal Cerejeira protegia-os, para os controlar, afirmava, mas nós não íamos nessa conversa.
Muitos pertenciam à Opus Dei, uma organização que, sob a capa da religião, ambicionava o poder político e económico. Salazar sabia-o bem. Era tudo uma tropa fandanga que o rodeava, que ele deixou que o rodeasse, e que o traiu logo que adoeceu. A começar pelo próprio almirante Américo Thomaz. Ao menos os comunistas não o enganavam... O senhor doutor respeitava até Álvaro Cunhal, a sua coragem, a sua inteligência, a sua coerência, talvez por serem, um em cada canto, parecidos. Escutei-lhe várias vezes referências a ele. Tinha de o combater sem quartel dado ser, repetia, muito perigoso. A sua fuga, com outros dirigentes do PCP, do forte de Peniche foi sugerida por Salazar à PIDE. Tornara-se um incómodo muito grande mantê-lo prisioneiro em Portugal, se fosse para a Rússia, ou para outros países do Leste, perdia junto dos seus seguidores a auréola de mártir. O senhor doutor estava convencido de que Moscovo não apoiaria nenhuma revolução para o apear. Mandou até suspender a biografia que uns indivíduos do regime queriam editar sobre o Estaline porque era muito dura para com ele. Os dirigentes da PIDE, para mostrar serviço, estavam, porém, sempre a atazaná-lo com os perigos do Leste... Ele não os levava muito a sério, mas queria-os a controlar tudo e todos, sem falhas. Divertia-se a saber o que diziam e pensavam de si, chegava a rir-se com o medo, o terror, que inspirava nos outros. Isso levava-o a exagerar na corda que dava às polícias e à Censura. Com a idade foi-se, porém, desinteressando, cansando. Quarenta anos a fazer a mesma coisa é muito tempo, até eu já estava farta de São Bento.»
Ao terem nas mãos a responsabilidade da vida de Salazar, alguns dos seus médicos conheceram pressões que os marcaram, dividiram para sempre.
A história — jogo de bastidores do mundo clínico, de interesses e equívocos, orgulhos e despeitos, poderes e perversidades — é longa, desconcertante, com lances incomuns de manipulação e hipocrisia.
Durante duas décadas, Vasconcellos Marques, director dos Serviços Neurocirúrgicos dos Hospitais Civis, contou off the record à imprensa que fora ele a diagnosticar a doença de Salazar (um hematoma), a decidir e a fazer a operação. E acusou, sempre off the record, Eduardo Coelho, o médico pessoal do presidente do Conselho, de limitar-se a dar, durante um mês, aspirinas ao paciente, de não ter coragem para determinar a intervenção cirúrgica, culpabilizando-o pelo desfecho dos acontecimentos.
O seu relato, embora não assumido — advertia os jornalistas de os processar (fez isso comigo) se lho atribuíssem —, generalizou-se, impôs-se como realidade e história. Tudo começou na manhã de 3 de Agosto de 1968, no terraço de Santo António do Estoril, junto à álea conhecida por Arca de Noé.
Era a zona por si preferida do imponente forte, construído por Filipe I, perdida a independência, para defesa da barra do Tejo. Nunca entrou, porém, em funções, acabando séculos depois por ser entregue ao Instituto de Odivelas (para filhas de militares) que o transformou em colónia de férias.
O primeiro-ministro utilizava-o no Verão, nos meses em que estava vazio, pagando do seu bolso o aluguer da parte ocupada. O quantitativo era estipulado todos os anos de acordo com as tabelas, que ele próprio mandava saber, das pensões à volta.
Ao ter, dois dias depois, conhecimento pela governanta da queda que ele sofrera, o médico nota-lhe algumas anomalias no raciocínio. Pede que o chamem imediatamente, se ocorrerem perturbações.
O presidente do Conselho retoma o trabalho e, embora queixando-se de dores de cabeça, executa uma complexa remodelação do Governo. Os mais atentos estranham-no. Américo Thomaz discorda da composição do novo Gabinete, do qual faz parte, como ministro da Educação, o historiador José Hermano Saraiva.
Fora do forte, a guerra intensifica-se em África e a Primavera desfaz-se em Praga. Salazar toma aspirinas — e desaconselha os seus ministros de participarem nos faustosos bailes de Schlumberger e Patino, em Sintra, cuja realização, daí a semanas, enche os jornais, transformando Portugal no centro do mundanismo internacional.
Se alguns vão às escondidas, Natália Thomaz, filha do Chefe do Estado, vai às claras. As relações entre os dois presidentes (do Conselho e da República) revelam-se, aliás, tensas.
Christine Garnier, acompanhada do marido, visita-o pela última vez.
Salazar não melhora, porém. Eduardo Coelho — que percebe estar perante um hematoma — pede ao filho, Eduardo Macieira Coelho, também ele médico e também ele (mais tarde) médico de Salazar, que procure um neurocirurgião.
«O meu pai pretendia o doutor Moradas Ferreira», relata-me, «mas como estava de férias na Madeira encarregou-me de procurar outro. Foi assim que surgiu o doutor Vasconcellos Marques.»
Este desloca-se a São Pedro do Estoril, a 6 de Setembro. «Encontrei Salazar, que não conhecia pessoalmente, com um aspecto muito acabrunhado», descreve-me. «Pedi para o observar com atenção. Fomos para o seu quarto e ele deitou-se. A situação era gravíssima, necessitava de ir imediatamente para Lisboa a fim de serem feitos exames complementares. Dona Maria de Jesus declarou, no entanto, que ele não ia para o hospital e que não podia ser tomada nenhuma decisão sem se ouvir o Governo. Sentei-me num banquinho de pedra e esperei. Passou hora e meia até aparecer o doutor Paulo Rodrigues, ministro da Presidência. Depois de muito instada, Dona Maria concordou no internamento, com a condição de a viagem se fazer ao fim do dia. Estabeleci contactos com a minha equipa e mandei reservar instalações na Cruz Vermelha.»
O êxito da operação irá permitir a divulgação de comunicados. O período crítico passa sem incidentes.
O doente levanta-se, passeia pelo quarto, recebe visitas, conversa. Maria de Jesus, que se instalara no edifício, não arreda pé — para irritação de médicos, enfermeiras, polícias e pessoal.
Aproveitando um período de boa disposição do operado, Vasconcellos Marques tenta tirar nabos da púcara: «A senhora Dona Maria é uma mulher inteligentíssima», avança. Ríspido, Salazar gela-o: «E dedicadíssima!»
Dias antes perguntara a Correia de Oliveira: «Mas quem é, afinal, esta senhora? É a mulher, é a amante, é a empregada do presidente do Conselho...?» «É a empregada», respondeu-lhe o ministro.
O internado conhece um pós-operatório e um início de convalescença sem problemas. Recupera a normalidade quando, ao oitavo dia, 16 de Setembro, a seguir ao almoço, sofre um gravíssimo derrame do outro lado do crânio. Entra em coma profundo. A sua morte é esperada a todo o momento. As possibilidades de sobrevivência são de quatro para cem.
Perde os movimentos dos membros esquerdos e metade da visão nos dois olhos, mas salva-se.
Manuel Nazaré, seu amigo pessoal, admite a hipótese de o rebentamento da artéria cerebral do enfermo ficar a dever-se «ao facto de Maria de Jesus lhe dar, às escondidas, pinguinhas de vinho do Porto e de Aveleda tinto para o ajudar a arrebitar».
Dez dias depois, Oliveira Salazar é exonerado e substituído. «O doente cinco vezes pareceu querer deixar-nos, mas cinco
vezes venceu a morte», escreve nas suas memórias Américo Thomaz.
A versão de Eduardo Coelho só virá a público 20 anos depois. Ao preparar um artigo sobre a efeméride para o semanário O Jornal, recebo a indicação, através de António Valdemar, da existência de um texto escrito pelo visado. A família faculta-mo.
«Fui eu que assumi», lê-se nele, «a responsabilidade de um diagnóstico de hematoma intracraniano subdural e da intervenção cirúrgica por os neurocirurgiões presentes não concordarem com o diagnóstico.» E acrescenta: «Quem fez a operação não foi Vasconcellos Marques, foi Álvaro Athayde. Ao abrir o cérebro de Salazar, ele até exclamou: "É um grande hematoma!."»
A revelação do documento provoca alvoroço nos meios políticos, médicos, jornalísticos. Vasconcellos Marques vê-se obrigado a assumir em público o que divulgara em privado.
Dita-me, então, um longo depoimento (conservo toda a sua gravação) em que relata o ocorrido: «Tornava-se necessário que alguém desse autorização para a operação. Um dos presentes sugeriu que se chamasse um neurocirurgião inglês, o que eu recusei, pois não estava disposto a ficar ali a olhar para o doutor Salazar até ele cair em coma e ouvir depois um colega estrangeiro perguntar-me porque é que o não tinha trepanado. O doutor Bissaya Barreto sugeriu que se adiasse a intervenção para a manhã seguinte. Recusei também. Disse-lhes que ou o doente era operado imediatamente ou eu ia-me embora. Se eles estavam a pensar que Salazar podia fazer ainda o seu testamento político, desenganassem-se. O doutor Paulo Rodrigues respondeu-me que não se tratava disso, pois o senhor presidente do Conselho tinha tomado todas as precauções, estava tudo previsto. O Prof. Leite Pinto virou-se para ele e, dando um murro na mesa, interrompeu-o: "O senhor sabe perfeitamente que isso é mentira, nenhum de nós adivinha o que vai passar-se." Fui ao quarto de Salazar, pedi às enfermeiras para saírem e anunciei-lhe: "Senhor Presidente, peço desculpa por mais esta maçada, temos que fazer uma intervenção cirúrgica, coisa simples, vai tudo correr bem. O desagradável é que necessitamos de lhe rapar o cabelo. Mas não se preocupe que volta a crescer." Ele olhou para mim e respondeu muito friamente: "Se é preciso fazer, faça-se." Pergunto-lhe se quer que chame um confessor. Interrompe-me com secura: "Isto é um hospital ou uma igreja?" Nunca lhe vi, aliás, quaisquer preocupações religiosas. Quem passava a vida a rezar era a Dona Maria. E o Cerejeira. Ia para o quarto ao lado, punha as mãos sobre o rosto e suspirava, enquanto repetia orações em latim. Pouco depois, Salazar foi transportado para o quarto piso, onde estava o bloco operatório, e eu fui vestir as roupas adequadas. Foi simples. Bastaram dois orifícios na testa para o sangue pisado sair.
Familiares e discípulos de Eduardo Coelho respondem-lhe indignados. Põem-lhe participações na Ordem dos Médicos e queixas nos tribunais. Vasconcellos Marques faz-lhes o mesmo.
O País assiste, entre divertido e assombrado, ao desenrolar da polémica. Os médicos comprometidos dividem-se pela defesa, uns, e pela acusação, outros, de um e do outro.
A viúva de Álvaro Athayde, Manuela Athayde, confirmará: «Foi o Álvaro quem o operou, sim, mas dizia sempre que foi a equipa. Não gostava nada de se salientar.»
Exaltado — chegou a haver cenas de pugilato junto ao quarto do enfermo —, Vasconcellos Marques (indivíduo de grande força física e ex-jogador de boxe) abandona a assistência a Salazar.
«O chefe do Estado foi testemunha, no Hospital da Cruz Vermelha, dum incidente muito desagradável verificado entre o doutor Vasconcellos Marques e o Prof. Eduardo Coelho», evoca, utilizando a terceira pessoa, Américo Thomaz.
Marcello Caetano visita-o depois de ter sido empossado. No final diz aos médicos: «Não sacrifiquem os serviços hospitalares na vigilância de complicações súbitas, quando o doente vai morrer, em prejuízo dos doentes de urgência que podem aparecer e que é preciso salvar.»
Maria de Jesus pega no Salazar que lhe deram os médicos, mete-o numa ambulância e recosta-o, embrulhado em mantas, em São Bento.
Ouvira, na clínica, os importantes do regime dizerem-lhe que o «levasse dali». «Para onde?», perguntou. «Para a sua casa.» «Qual casa? Os senhores sabem muito bem que ele só tem a da residência oficial. A do Vimieiro não está em condições de o receber neste estado.»
Os visados entreolharam-se. Contactado, Américo Thomaz conferencia com Marcello Caetano. A Governanta tinha razão.
Dona Maria corre as cortinas e os reposteiros que dão para a Estrela. À cólera branda que a tomava juntava-se uma tristeza sem fim. Ficou de pé durante várias noites a olhar Salazar adormecido sob os sedativos.
Não iria dizer-lhe nada sobre o que se havia passado. Iria, pelo contrário, fazer com que tudo continuasse na mesma. Teria de vigiar as criadas, as enfermeiras, os médicos, os visitantes. Os antigos ministros de confiança continuariam a ser ministros. Que importavam Marcello Caetano, Américo Thomaz, o Governo, o País, a PIDE? Saberia lidar com todos — decidiu. E cumpriu.
«O Presidente da República chegou a pedir-me para contar ao senhor doutor que já não estava em funções. Disse-lhe que não. Pedi-lhe mesmo que ninguém o fizesse. Que esperassem. Uma corja! O senhor doutor havia-me relatado, há muito tempo (ele gostava de contar-nos, a mim e às meninas, coisas da História) que os russos, quando o Lenine estava para morrer, faziam todos os dias um jornal falso para ele ler e não saber o que se passava. Achei que podia poupá-lo. Se ele aguentou o País 48 anos, o País podia bem aguentá-lo algum tempo. Eu não sei se ele acreditou. Nunca me disse nada.»
Em vida semivegetativa, Salazar protagonizou uma das encenações mais espantosas da nossa História. Durante meses, repetiu o papel de presidente do Conselho, fez «reuniões de governo», deu entrevistas, concedeu audiências. Os seus antigos colaboradores continuaram a fazer de colaboradores, a ir a despacho, a mostrar-lhe projectos, a pedir-lhe conselhos.
Há, no entanto, quem afirme (caso de Costa Brochado, da duquesa de Palmela, da viúva de Franco Nogueira) que ele fingia: impotente para mudar a situação, simulava que a não percebia — alimentando um dos mistérios mais surpreendentes dos seus muitos mistérios.
«Falava pouco, não era possível saber se tinha consciência da situação em que se encontrava», evoca o Prof. Jacinto Simões, que lhe realizava, com aparelhos levados para o seu quarto, sessões de hemodiálise várias vezes por semana. «Um dia, estava eu presente, chegou o doutor Gonçalo Correia de Oliveira, que havia sido ministro, dizendo que queria pedir licença ao senhor presidente do Conselho para se deslocar a Londres. A senhora Maria respondeu-lhe: "Eu trato disso, senhor doutor." Dirigiu-se à cama de Salazar, baixou-se e sussurrou-lhe:
"Está aqui o senhor doutor Correia de Oliveira que pede licença a Vossa Excelência para se deslocar a Londres." Sem que se tivesse ouvido nada da boca de Salazar, ela levantou-se, virou-se para Correia de Oliveira e disse: "Vossa Excelência pode ir, o senhor presidente está de acordo".»
Jacinto Simões será um dos especialistas chamados a assistirem a Salazar, vítima, ainda na Cruz Vermelha, de insuficiência renal aguda: «Conseguimos reequilibrá-lo. Vencida a crise, recuperou a fala. Lembro-me de que uma tarde o Bissaya Barreto, que estava presente, comentou a alteração dos nomes das ruas e edifícios que costuma ocorrer quando da mudança de regimes. Salazar ouviu-o atentamente e disse que isso era um erro enorme, que nunca se deveria fazê-lo.»
Portugal logrou, apesar das limitações existentes no Estado Novo, actualizar-se, de uma maneira geral, no campo da medicina. Deu mesmo, através da leucotomia de Egas Moniz (corte nas fibras cerebrais destinado a alterar os comportamentos dos que se lhe submetiam), uma contribuição original para o desenvolvimento do sector. Valeu-lhe o primeiro Prémio Nobel da nossa História.
«Até aí, a terapêutica psiquiátrica», destaca Jacinto Simões, médico, poeta, cientista, investigador, professor, «reduzia-se ao isolamento dos doentes amarrados com coletes-de-força, e à psicanálise de Freud. Depois surgiram os fármacos que alteraram o comportamento psíquico e mudaram a alma do ser humano. Reinaldo dos Santos desenvolveu, então, o estudo dos vasos dos membros, caso da punção da aorta, considerada uma zona sagrada. Era sacrilégio pensar em introduzir-lhe agulhas para injectar-lhe líquidos. Ao fazê-lo, ele permitiu a visualização das artérias. Outra contribuição importante foi a de Lopo de Carvalho, que estudou a circulação pulmonar. E a de Eduardo Coelho no campo da electrocardiografia.»
Jacinto Simões protagonizou, por sua vez, inovações angulares no tratamento do rim em Portugal: «O rim era considerado, ao contrário do coração, a que atribuímos sempre os grandes sentimentos e paixões, um órgão subalterno», ironiza, «que apenas segregava líquidos desagradáveis, pestilentos. Ele tem, no entanto, interferências em todo o organismo, mexe com tudo. É decisivo, por exemplo, para a tensão arterial e para a arteriosclerose, patologias gravíssimas no mundo actual.»
Cedo percebeu que, nessa época, o grande campo a explorar encontrava-se na reanimação, campo que tem a ver com toda a medicina, pois o homem morre quando os órgãos vitais ficam atingidos. Alguns são, no entanto, atingidos transitoriamente, não permanentemente. A sua substituição por máquinas, ou seja, a realização das suas funções por aparelhos enquanto se mantiver a anomalia, como sucede com os rins e os pulmões, tornou-se um recurso viável.
Jacinto Simões constituiu, com esse objectivo, e com apoios da Gulbenkian, uma equipa própria. «Introduzimos», especifica, «as técnicas de reanimação que substituíram os pulmões de aço. Esses pulmões eram uma coisa horrível.
Os doentes estavam presos dentro deles, anos e anos, apenas com a cabeça e os braços de fora. Pareciam urnas de metal. Tivemos êxito imediato sobretudo na reanimação de intoxicados. Havia imensos intoxicados, gente que tentava suicidar-se com barbitúricos. Apareciam dezenas de casos no banco de São José. Desloquei-me a Paris, com colaboradores meus, para estudar os processos ali utilizados. Voltámos e começámos a empregá-los.»
O tratamento de doentes crónicos foi o salto seguinte: «Manter as pessoas vivas quando os rins já não funcionam fez-se-nos um novo desafio. Hoje é perfeitamente normal haver pessoas a viver sem rins. Entre 1966 e 1975, tratávamos apenas cerca de 20 doentes crónicos no Hospital do Rego. Não tínhamos capacidade para mais. A selecção era feita por ordem de chegada... A pressão sobre nós subia constantemente, mas o Governo não se mostrava sensível. Desde muito cedo criei a expectativa de ver cair Salazar. Quando fui chamado para o observar fiquei frio, preocupado apenas em curá-lo, como a um doente normal. Tive um certo orgulho em tratá-lo.»
Se não tivesse havido o notável investimento da Fundação Gulbenkian nas ciências da saúde e na formação dos seus especialistas entre nós, aspectos que Salazar não considerava prioritários, ele não teria saído vivo da clínica nem resistido dois anos em São Bento.
Morre na manhã de 27 de Julho de 1970, vítima «de uma embolia fulminante, em consequência duma flebotrombose». A seu lado, Maria de Jesus está impassível.
«Olhei as suas reacções. Não fez um gesto, um esboço de carícia», acrescenta aquele médico. «Não lhe pôs sequer a mão nas mãos, no rosto. Manteve-se sempre imperscrutável. Para atestarmos o óbito, tirámos um electrocardiograma enorme, durante mais de cinco minutos. Depois, o meu pai teve a ideia de lhe mandar fazer a máscara mortuária e a mão direita, a da escrita. Contactámos António Duarte, que as executou.»
No seu ateliê, o escultor mostra-me as duas peças: «Ninguém as veio buscar. Nem sequer me pagaram, e foi um trabalho muito difícil, pois havia o risco de a pele e os cabelos do cadáver se deteriorarem ao tirar os moldes.»
Não foi feita autópsia. O corpo passou para o embalsa-mador, que o preparou para o funeral.
A manhã está muito quente quando o cadáver, no dia seguinte, sai do Mosteiro dos Jerónimos para o comboio especial, paramentado de crepes e flores, que, subindo o País em marcha lúgubre, o deixará em campa rasa no cemitério do Vimieiro.
O doente entra em estertor lento. Tem 81 anos. A sua debilidade torna-se total. Desiste de viver. «Limitámo-nos a atenuar-lhe o sofrimento», conta-me Macieira Coelho.
As pessoas célebres não costumam morrer em paz. Os médicos prolongam-lhes a existência o mais que podem, submetendo-as a operações, a tratamentos complicadíssimos, dolorosíssimos, que não lhes respeitam, muitas vezes, a dignidade, não lhes favorecem o apaziguamento. Recorde-se o que aconteceu a Franco, a Estaline, a Mao, a Tito.
Salazar não teve, deixada a Cruz Vermelha, uma agonia assim. Expirou sem angústia, quase esquecido, no meio da equipa que o assistia.
«Ele passou a ser vítima da Censura e eu, como seu médico assistente, também», anota Eduardo Coelho. «Os antigos ministros, os que lhe deviam tudo, abandonaram-no, não lhe deram assistência moral. Muitos não puseram sequer os pés em São Bento. Eu próprio lhes pedi que o visitassem. Que tristeza! Como ele sentia os que faltavam! Foi a angústia que dominou os dois últimos anos da sua vida.»
Sem sucessor nem testamento político, o regime fractura-se assim que Salazar adoece. A luta pelo poder estala a todos os níveis. Os mais fiéis retiram-se, os mais ambiciosos mudam-se.
Américo Thomaz, até então um apagado Presidente da República, sai do hospital com os pareceres dos médicos e isola-se em Belém. Num bloco de papel timbrado com as insígnias do Palácio, desenha pela noite fora riscos e chavetas, que atravessa de nomes, círculos, cruzes.
Ao amanhecer, toma uma decisão: falará com os chefes militares e convocará o Conselho de Estado. Depois escolherá o sucessor de Salazar.
Nos últimos tempos pensara com frequência no que faria em semelhante situação. As suas relações com o presidente do Conselho haviam-se tornado complicadas por causa, afiançam-nos, da filha Natália, sempre metediça.
Salazar detesta-a. Critica o nenhum pulso do pai para com ela. Marcello Caetano também a detestará. Esfriarão, aliás, de relações quando, exilados, se virem juntos no Funchal e no Rio de Janeiro.
Os quartéis entram de prevenção, a Censura torna-se frenética. Curiosamente, a PIDE abranda. Sabe que as perturbações virão nessa altura mais do interior do regime do que do exterior, mais dos barões situacionistas do que dos dirigentes oposicionistas — Mário Soares está, aliás, desterrado em São Tomé e Álvaro Cunhal no Leste.
A extrema-direita, os ultras, os marcelistas, os kaulzistas, os liberais, emergem. A oposição assiste, entre curiosa e excitada, às aflições do sistema.
A Cruz Vermelha faz-se uma mistura de salão social e altar lacrimejante. O centro da Nação passa para o seu edifício, para o pequeno hall onde, a toda a hora, chegam notáveis do Estado e equipas da comunicação social; para os corredores onde se cruzam angústias e intrigas; para o sexto piso onde Salazar lateja, inconsciente, sob o sangue que lhe apodrece o cérebro, o poder, o império, a vida.
Cerejeira reza na antecâmara, Dona Maria comunga na capela, Bissaya Barreto passeia no corredor. Paulo Rodrigues imobiliza-se, silencioso, Silva Pais adeja, inquieto. Moreira Baptista acende confortos.
Os jornalistas, vindos de todo o mundo, captam rostos e declarações. Políticos, industriais, militares, artistas, sacerdotes, monárquicos, diplomatas, estudantes, senhoras da sociedade, mulheres do povo, desaguam mansamente, entre silêncios e lágrimas. Amália traz flores e versos. Portugal sobe em procissão a colina da clínica — num fantasmático Alcácer de verberações e suspiros.
Do outro lado, há sol. O sonho da paz em África, da abertura das cadeias políticas, da liberdade de informação e criação, começa a levantar-se. Os liberais, os católicos progressistas, os democratas, os pacifistas, parte da esquerda, vêem Marcello Caetano (que se incompatibilizara com o chefe do Governo, que se pusera ao lado dos estudantes contra a polícia, que advogava o diálogo com os movimentos africanos de libertação) aproximar-se de São Bento.
Uma aragem de Primavera bate o rosto dos mais optimistas.
«Fraca figura, voz de velha, Salazar cortava a direito sem querer saber se atingia amigos ou não, anunciando e impondo
sacrifícios, indiferente à imagem de simpatia ou antipatia que resultasse da sua acção», descreve-o Caetano.
«O Marcello é um belo espírito, com ideias liberais», responde Salazar. «Segue sempre, no entanto, o que julga ser as últimas correntes dominantes.»
Ao ver as instalações da Universidade Clássica de Lisboa, de que era reitor, invadidas, demite-se: «Salazar está a envelhecer, vai perder qualidades de doutrinação e de acção.»
Quando se encontram a sós, dispara-lhe: «Vossa Excelência está cercado de pessoas a quem o temor torna violentas e que quando alguém diz mata gritam logo esfola. Ora neste contexto é bom haver alguém que reaja e condene a violência.»
Na manhã de 26 de Setembro de 1968, ante um País entorpecido por névoas e medos, uma Europa fendida pelo Maio dos estudantes franceses, e uma África retalhada pelas guerras independentistas, Marcello Caetano toma o poder.
«O Presidente da República sabe como deve agir. Felizmente há por onde escolher quando o chefe do Estado julgar necessário substituir-me. De todos os meus colaboradores, no entanto, o que revelou maior preparação de estadista foi o Marcello Caetano. Ele é o futuro, tem a juventude consigo», afirmara, ambíguo, Salazar.
Os que lhe permanecem fiéis não escondem a emoção. O seu tempo vai chegar, irreversivelmente, ao fim. A toda a pressa, monsenhor Moreira das Neves redige, designado por Cerejeira (três bispos recusaram a incumbência), uma oração fúnebre de 18 minutos. «Dizia nela», confidencia, «o que era de justiça e a circunstância pedia.»
A alocução será lida dois anos depois, com pequenas alterações, nos Jerónimos, durante as exéquias.
Marcello Caetano abre, finalmente, todas as janelas. O palco está, inteiro, para si. Sem perda de tempo, manda remodelar, redecorar, a residência de São Bento, a política do regime, a imagem do País.
Foi no funeral de Salazar, sentado à janela do comboio que transportava a urna para o cemitério do Vimieiro, que Franco Nogueira decidiu terminar a vida política.
O seu tempo, o seu mundo, desciam à terra, percebeu, com o corpo, com a memória, do homem que desaparecia nesse estranho mês de Julho de 1970.
Marcello Caetano, com quem não tinha identificações nem vontade de as ter, não iria, soube-o sempre, segurar o império. A correlação das forças dos blocos externos e a dinâmica das oposições internas, fortemente ligadas aos movimentos autonômicos de África, não lho permitiriam. Isso se, entretanto, não eclodisse um novo e, na sua óptica, inevitável conflito mundial.
Sem Salazar, o País desistiria — veja-se o que sucedeu na Primeira Grande Guerra — de preservar a neutralidade. Envolver-se-ia na contenda, perderia as colónias e a independência, destruir-se-ia.
A Portugal só restava, numa situação dessas, manter-se imparcial para poder chegar, com todo o seu império, incólume e descomprometido à nova ordem saída da hecatombe. Então os ventos mudariam, sublinhava, a nosso favor.
Américo Thomaz, Presidente da República, não compreendeu que a continuidade do regime jogava-se não no plano nacional mas no internacional; não compreendeu que só um continuador de Salazar, não um dissidente dele, seria capaz de fazer a transição.
Franco Nogueira achava-se, pelas suas relações, os seus conhecimentos, o seu prestígio nos Negócios Estrangeiros, esse continuador.
O 25 de Abril foi-lhe a confirmação dos presságios. Do Forte de Caxias, onde o encarceraram sem culpa formada durante meses, assistiu ao ruir de tudo.
Apenas o pessimismo, que se lhe fizera uma pele, e o orgulho, que se lhe tornara uma natureza, o ajudaram a atenuar o embate. E a reagir.
Libertado, pegou no melhor que ficou de si, a memória, a coerência, e distanciou-se. Londres, cidade onde tinha amigos e afeições, prestígios e fidelidades, fez-se-lhe abrigo.
Quase nada acontecera como desejara. Grande na ilusão do seu mundo, grande se tornou, ao vê-lo toldar-se, na desilusão por ele. Foi esse seu tudo ou nada que impressionou Salazar. Que levou ambos à admiração mútua, à comunhão política, ideológica, ética, intelectual, humana; à rigidez em que imergiram. A biografia que Franco Nogueira escreveu dele é uma prova disso. Desse catastrofismo. «Depois de mim o dilúvio», coincidiam no dizê-lo, entre amigos, os dois.
A aniquilação da vida humana por explosões nucleares, o domínio de Portugal por Castela e o seu desaparecimento como estado soberano — devido à perda do império e à entrada na CEE — eram-lhe obsessões crescentes.
Em tudo Franco Nogueira antevia perigos e ameaças, para tudo pedia vigilâncias e firmezas. Daí o centralismo e o militarismo (opunha-se ao serviço voluntário, à objecção de consciência, à redução dos programas armamentistas) que preconizava.
O desmembramento da URSS não representava para si sinal de desanuviamento. Representava, pelo contrário, de incerteza, de crispação. O comunismo iria, avisava, ressurgir num novo Leste e numa nova China, favorecido pela permissividade das democracias ocidentais.
A ausência de convicções, de princípios, de éticas, de valores, tornara-se a seus olhos irreversível. Fatal. Não encontrava espaço para si e para o mundo que transportava. Não lhe apetecia o futuro.
O neocolonialismo esfrangalhava Angola e Moçambique, o tecnocracismo pervertia a Europa (e Portugal), revelando-se pior do que o marxismo — porque rompia de dentro do próprio sistema.
De externo, o perigo fazia-se também (sobretudo) interno. O cerco fechava-se-lhe. As ideias que defendia, e as que atacava — precisava de senti-las a quente, nos nervos —, não estavam já perto, não faziam já notícia.
Foi ficando, nos últimos meses, taciturno. Os da sua geração partiam em cadeia.
Preservava com meticulosidade, com rigor, a sua vida pessoal — nem a Salazar, apreciador de confidências, se abria. O mar, a vela (possuía um barco de razoável calado), fizeram-se-lhe refúgios, evasões de intimidade e discrição.
Navegar e escrever eram-lhe prazeres irreprimíveis. Crítico literário na década de 40 (ajudou a revelar alguns neo-realistas), afirmou-se na de 80 historiador e prosador de referência, com uma dimensão marcante na época.
«Por várias vezes advoguei junto do doutor Salazar a conveniência de eliminarmos a Censura», revelou-me. «Salazar não recusou a ideia. Apenas pediu tempo.»
Franco Nogueira nunca parecia ter pressa. Nem impaciência. «Sabe qual é a diferença entre boa educação e boa diplomacia?», perguntava. «Não? Então imagine que, numa casa onde está como convidado, entra inadvertidamente no quarto de banho e vê uma senhora na banheira. Se for bem-educado, retira-se e diz: mil perdões, minha senhora. Se for diplomata, retira-se e diz: mil perdões, cavalheiro.»
A ironia fez-se-lhe sarcasmo, a cordialidade, distância. Ia a debates, escrevia em jornais, dava entrevistas — para se observar a si mesmo, vivo, interveniente, matreiro, ante os que combatera e o combateram.
Em momentos de confidência reconhecia que, passada a prisão e o exílio, a democracia lhe devolvera a dignidade, o estatuto a que tinha direito.
Porta-voz de sectores específicos da sociedade portuguesa, tornou-se pela sua cultura, comunicabilidade, coerência, um comentador angular da vida nacional.
De diálogo aberto — como que à espera de ser convencido de não ter, de vir a não ter, razão —, Franco Nogueira manteve sempre contactos assíduos com todos os quadrantes, sectores, correntes e gerações.
Distanciou-se das novíssimas direitas tecnocráticas e exibicionistas de hoje com a mesma ênfase com que, em jovem, se distanciou das, então, novíssimas esquerdas materialistas e internacionalistas.
A humanidade entrara, na sua perspectiva, em fase de pré-colapso. O Leste e o Médio Oriente iriam ser palcos de conflitos incontroláveis, a que a crescente debilidade defensiva do Ocidente não daria resposta.
«Só me resta a consolação de não ir assistir a isso, de desaparecer antes de Portugal», exclamava.
Os fios que o ligavam à vida, à acção, partiam-se uns atrás dos outros. Ficou peixe em aquário de pouca água, a arfar, a entristecer. A morrer.
O destino não foi tão piedoso com ele como com Salazar — a Salazar apagou a lucidez antes de apagar a vida.
Manuel Nazaré, médico moçambicano, foi contactado por Eduardo Coelho para ir a São Bento tirar sangue a Salazar. O analista chamado anteriormente espetara-lhe, sem conseguir recolhê-lo, cinco vezes o braço.
O presidente do Conselho «estava sentado quando entrei. Levantou-se, despiu o casaco e arregaçou a camisa. "Não tiro sangue a ninguém de pé", disse-lhe. Ele deitou-se e comentou: "As minhas veias são muito difíceis de apanhar, não são?" "São, sim", retorqui-lhe. O que não era verdade, eram normalíssimas. Não custou nada. Não percebi, aliás, o que se passara com o colega que me antecedera. Deve ter-se enervado. Salazar ficou tão agradado que exclamou sobre mim: "É um príncipe!" Tempos mais tarde disse ao presidente da Assembleia Nacional: "Temos de fazer deste príncipe um deputado". Eu argumentei: "Só posso aceitar se for para realizar trabalhos de natureza social, não política, não percebo nada de política." "É isso mesmo que se pretende, contrapôs." Tornei-me, dessa maneira, o primeiro deputado negro do Parlamento. Depois quis que eu fosse governador de Moçambique. Recusei. E sugeri o nome de Baltazar Rebelo de Sousa. Foi dos melhores dirigentes que a região teve. O próprio
Samora dizia que era preciso ser muito estúpido em Lisboa para não aproveitarem no Governo central um homem como ele.»
A sua amizade por Salazar manteve-se para sempre. «Uma vez convidou-me para almoçar. "É peixe, que vinho quer?" Sem me dar tempo a abrir a boca, acrescentou, sorrindo: "Cá em casa, quer seja peixe ou carne, é sempre tinto, e do meu, que se bebe." Bebemos. Poucochinho, que ele não se alargou. A saída, o Mário de Figueiredo, que comera connosco, puxou-me pelo braço: "Vamos a uma tasca que há aqui, o gajo só nos deu um copo, viu? É tramado!" Certa ocasião, Dona Maria sofreu uma queda e adoeceu com gravidade. Salazar não se opôs a que se chamasse o doutor Miller Guerra, que era um elemento destacado da oposição, para a observar. Recebeu-o, mas não lhe falou. Aflito com o estado dela, pediu-me para o informar imediatamente, estivesse a fazer o que estivesse, dos resultados das análises. "A Maria é muito importante para mim, mais do que eu para ela!", comentou. Ao fim da tarde vou a São Bento. Encontrava-se reunido o Conselho de Ministros, havia, salvo erro, problemas em Moçambique. Peço para o informarem da minha presença. Interrompe a reunião, o que nunca fizera, e vem atender-me. Os ministros ficaram ansiosos, pois ele não lhes disse do que se tratava. Pensaram até que havia sucedido o pior em África. Nessa noite todos me telefonaram. O Moreira Baptista veio, inclusive, a minha casa.»
Num dos períodos de maior depressão sua, os médicos mandam vir em segredo da Roménia, para o observar, a directora da célebre clínica Aslan, especialista em rejuvenescimento. Quando lhe dizem, a medo, que ela pretende examiná-lo, Salazar pergunta:
— De que nacionalidade é?
— É romena — respondeu Manuel Nazaré.
— Então que vá fazer os seus tratamentos lá para essa gente do Leste!
Recusa-se a recebê-la. Pede, porém, que a levem a passear e a almoçar a Sintra, pagaria do seu bolso a despesa, e a mandem depois embora.
Tirando as enxaquecas, as depressões, a ciática, a febre tifóide (que lhe fez cair temporariamente o cabelo) e a colecistite, Salazar foi um homem saudável, de vida regrada e alimentação sóbria. O cérebro e o coração eram-lhe órgãos de grande vitalidade. Tinha um pé deficiente, daí o uso de botas. Possuo maus pés e sou um pouco marreco, admitia. Quando ministro das Finanças partiu uma perna. Ao Prof. Gentil Martins, que o operou, confidenciou-lhe: «Se eu ficar manco abandono a política e regresso a Coimbra.»
Não ficou.
Experimentava aversão à carne. Preferia-lhe peixe fresco, pargo e sardinhas. Fugia sistematicamente dos banquetes e das refeições pesadas.
«Uma das vezes em que o visitei», anota Marcello Mathias, «ele estava num estado de grande depressão. Falou-me em abandonar o Governo, dizendo-me que, se não se sentisse com forças para assumir a responsabilidade das suas funções, preferia ir-se embora, até porque a sua autoridade já não era devidamente respeitada. Perguntou-me o que eu pensava sobre a hipótese de se fazer substituir pelo Pedro Teotónio Pereira, na altura embaixador em Washington.»
A ideia de que a política é uma crucificação, um sacrifício directamente proporcional ao poder investido, generaliza-se com Salazar. Ele não se diz, aliás, político, diz-se condutor dos negócios do Estado, tarefa exercida por exigência suprema da Nação.
Aos íntimos sublinha: «Não tenho gosto pelo poder, ele não me seduz, não me dá nenhuma satisfação. Nada me pode suceder que me contrarie. Tão serenamente viveria no luxo de um palácio como na obscuridade de um casebre.»
Costuma, referindo-se a si, falar ora na primeira pessoa do plural («nós não nos encontramos ocupados à maneira dos outros homens de Estado na Europa, temos talvez menos trabalho, mas dispomos de mais tempo para pensar nos outros»), ora na terceira do singular:
«Este homem que é governo, não queria ser governo. Foi deputado; assistiu a uma única sessão e nunca mais voltou. Foi ministro; demorou-se cinco dias, foi-se embora e não queria mais voltar. O Governo foi-lhe dado, não o conquistou. Não conspirou, não chefiou nenhum grupo, não manejou a intriga, não venceu quaisquer adversários pela força organizada ou revolucionária. Não se apoia aparentemente em ninguém. Tem todo o ar de lhe ser indiferente estar, ou ir; em todo o caso, está. Está e há tanto tempo, e tão tranquilamente, como se ameaçasse nunca mais deixar de estar. Vai engolindo, de vez em quando, a sua conta de sapos vivos, comida forçada de políticos.»
Desvanecida a fé na hierarquia católica (deixou de se confessar e comungar), Salazar dirigiu a sua espiritualidade para planos mais vastos e indefinidos.
Um dos segredos mais bem guardados sobre si foi o do seu interesse por astrólogos, médiuns, videntes, que consultava regularmente — caso de Sibila, Fernanda Moreira, Carmen Lara, Madame X, Joãozinho de Alcochete. Alguns deslocavam-se de eléctrico, para não darem nas vistas, a São Bento. Outros atendiam-no a desoras pelo telefone. A maioria morreu já.
Maria Emília Vieira, viúva de Norberto Lopes (falecida em 1998 aos 101 anos), ex-bailarina, ex-actriz, ex-responsável pelos signos de A Capital, sob o pseudónimo de Sibila, assume publicamente a sua relação com Salazar:
«Ele acreditava nos horóscopos», conta. «Durante mais de três décadas contactou-me para perguntar como estavam os astros. Esperava com toda a paciência que eu estudasse os mapas. Depois dizia-lhe: "Senhor presidente, vai ter uma semana assim e assim, tome cuidado com isto e com aquilo." Quando necessitava de tomar decisões importantes, ouvia-me atentamente. Eu esclarecia-o sobre os campos em que devia mover-se e sobre a melhor forma de o fazer. Um dia perguntou-me porque é que as coisas estavam a correr-lhe tão mal, foi num período de crises sucessivas.
O horóscopo confirmava que, de facto, os planetas não se encontravam a seu favor. Ele confiava em mim. Telefonava-me até do forte do Estoril. Preveni-o de alguns perigos. Certa vez perguntei-lhe: "Vai deixar Portugal, vai para a Suíça?" Ele brincou: "E com que dinheiro? Não tenho posses para ir para fora!." Daí a pouco dava-se o problema Botelho Moniz, que propunha o seu exílio na Suíça. Quando soube da queda no forte percebi que o fim se aproximava. Nos últimos tempos afligia-o saber que não gostassem dele. Eu sempre gostei muito dele. Tratava-se de um indivíduo excepcionalmente íntegro. O seu mapa astrológico revelava-o uma pessoa extraordinária, fora do vulgar. Queria saber de tudo, daí o seu interesse pelas coisas do oculto.»
Elemento de destaque da oposição, Norberto Lopes, director do Diário de Lisboa e de A Capital, escreverá no Diário de Notícias de 19 de Janeiro de 1982 uma crónica sobre a crença dos poderosos nos astros. «Posso afirmar que Salazar também recorria a eles», especificou. Foi a primeira vez que se publicaram entre nós referências ao lado «esotérico» do ex-primeiro-ministro.
Os que percebiam essa sua natureza (meia dúzia de íntimos) desenvolveram esforços permanentes para que nada transpirasse dela. Ele próprio tomava todas as medidas nesse sentido.
A Igreja (através da presença do cardeal e dos padres), a política (através da vigilância dos ministros e dos secretários), a sociedade (através da avidez dos convidados e dos visitantes), a imprensa (através da indiscrição dos criados e dos guardas), não podiam suspeitar de nada. Não suspeitaram. Só Fernando Pessoa afirmará que Salazar era um «materialista católico», um «ateu que respeitava a Virgem».
Nas suas alocuções, o presidente do Governo falava, aliás, mais na Providência do que em Deus, como se ela estivesse do seu lado, isto é, do lado do Portugal por si concebido, construído.
Um anticlerical
Encenou o seu mito com grande rigor. Tudo imaginou, arquitectou, construiu, dirigiu: gestos, palavras, marcações, adereços, sombras, timings, marketings, comportamentos, austeridades, inacessibilidades.
Distanciou-se por igual, serviu-se por igual, de todos — católicos, ateus, intelectuais, artistas, militares, democratas. Trabalhou com maçons, mas ilegalizou-lhes o Grande Oriente Lusitano; defendeu espíritas, mas interditou-lhes a federação e os bens imobiliários; homenageou monárquicos, mas impediu-lhes a restauração do trono; conviveu com homossexuais, mas deixou-os serem perseguidos; apoiou republicanos, mas sonegou-lhes a democracia
As razões do Estado (que era ele) sobrepunham-se às razões dos sentimentos, das liberdades. «Parecia um mago», escreve Costa Brochado. «Nunca se lhe percebeu qualquer prática religiosa, para além da de ajudar à missa, celebrada todos os domingos em São Bento pelo cónego Carneiro de Mesquita. A Dona Maria punha-lhe ao pescoço, ou na roupa interior, escapulários e medalhinhas, mas era um anticlerical.»
«O seminário ensina a pensar uma coisa e a fazer outra», comentava. «Salazar será cristão?», perguntam sacerdotes ao saberem que ele havia exigido que a palavra Deus fosse, quando da revisão de 1959, riscada da Constituição.
«Os católicos revelaram-se alheios à minha entrada no Governo, como foram estranhos a todos os meus actos políticos», lembra Salazar. Que previne: «Será inevitável o conflito entre o Governo e a Igreja se esta apoiar o progressismo. E inconveniente a intromissão da política na religião. O progressismo católico parece trabalhar hoje de conivência com o comunismo na vaga esperança de este o ajudar a fazer a revolução de que o primeiro colheria os frutos, pelo ascendente que ainda mantém nas sociedades ocidentais.»
Cerejeira, que o conhece bem, tenta adulá-lo. «Tu estás ligado ao milagre de Fátima: estavas no pensamento de Deus quando a Virgem Santíssima preparava a nossa salvação. E ainda tu não sabes tudo. Há vítimas escolhidas por Deus para orarem por ti e merecerem para ti.»
O presidente do Conselho não se comove. O cardeal desilude-o cada vez mais com os seus internacionalismos e modernismos. Cerejeira tornara-se, para o seu gosto, demasiado mundano. Se essa faceta o divertia enquanto colega, nos tempos de Coimbra, nos de Lisboa, como cardeal, enervava-o. Os seus desvios à política oficial portuguesa gelavam-no. Não compreendia, não tolerava, que ele obedecesse mais ao Papa do que a si, que privilegiasse mais os interesses do Vaticano do que os de Portugal.
As dificuldades que Salazar levanta, por exemplo, à aceitação da Concordata levam o núncio Ciriaci a, desesperado, compará-lo à «encarnação viva do demónio».
Humilhado, Cerejeira dirá na altura da sua assinatura, em 1940: «É o documento em que a Santa Sé vai mais longe em concessões. É o único em que não se sustentam os ministros do culto, nem se exigem indemnizações pela propriedade eclesiástica.»
O chefe do Governo sente-se na necessidade de mandar Mário de Figueiredo lembrar que «uma Concordata de separação não significa um Estado agnóstico». Ele próprio esclarecerá que, com o texto em causa, pretende apenas «aproveitar o fenómeno religioso para elemento estabilizador da sociedade».
A Santa Sé, que não pretendia enfrentar os governantes de Lisboa, passou, a partir de então, a distanciar-se deles.
Após assumirem os seus altos cargos, ambos combinaram não se meter nos campos do outro. «Mas Cerejeira não se calava», conta-me Moreira das Neves. «Atacava o nazismo, chamava doido ao Hitler, criou situações muito tensas. As relações entre os dois esfriaram. Na intimidade tratavam-se por tu, mas em público faziam-no segundo o protocolo.»
O chefe do Governo ameaça suspender a Concordata se o Papa for, na sua viagem à índia, ao santuário de Goa (após a invasão desta). Cerejeira voa, rápido, para Roma — e o Sumo Pontífice não visita o túmulo de São Francisco Xavier.
A notícia de que Paulo VI deseja deslocar-se à Cova da Iria aborrece-o: «Não devemos dar um único passo ou ter um gesto», determina, «que o Papa possa interpretar como significando interesse da nossa parte em que ele venha cá.»
O Santo Padre será recebido, não como hóspede do Governo, mas da diocese de Leiria. A atenção que, na altura, concede à Irmã Lúcia desagrada ao presidente do Conselho. «Trata-se de uma exibição meramente demagógica», comenta.
Enfastiado, quer regressar imediatamente a Lisboa e não cumprimentar o Sumo Pontífice. A custo, Franco Nogueira e António Faria (foram eles que o convenceram a deslocar-se a Fátima) demovem-no.
A presença no local de Ievtuchenco é-lhe outro desconforto. Trazido ao nosso País por Snu Abecassis, editora da Dom Quixote, o poeta russo dará dois dias depois (a PIDE não interferirá) um recital memorável no Teatro Capitólio de Lisboa.
Paulo VI utiliza toda a capacidade persuasiva para, no encontro com o ditador português, o cativar. Consegue-o.
Vejo-os à distância, no final, a despedirem-se, ante os jornalistas, sorridentes, afáveis. Nenhum ficara beliscado.
Salazar contará, no regresso, aos dois amigos: «Tratei o pontífice por Vossa Santidade. Sabem como me tratou ele a mim? Por Vossa Eternidade.»
Descontraído, manda dizer a Moreira das Neves, incumbido de discursar numa cerimónia comemorativa de Aljubarrota (para a qual não convidou o corpo diplomático a fim de evitar embaraços ao embaixador de Espanha) que «não vá para lá comparar-me ao Condestável... mas também não me compare ao cavalo!»
Na doença, Cerejeira passou a visitá-lo todos os dias. Rezava-lhe missa em latim e dizia-lhe mal dos católicos progressistas, para lhe agradar.
«Salazar tomou frequentemente reacções que não lhe conhecia. Foi o homem mais complexo, ainda que o mais rico em dotes intelectuais, de toda a nossa geração», confidencia Gonçalves Cerejeira a Alexandre Manuel, em entrevista dada no retiro da Buraca.
«No dia do funeral da mãe, quando cheguei lá a casa», especifica, «veio ter comigo para me dizer que talvez não pudesse ir ao cemitério. "Os pés estão de tal maneira inchados que não tenho sapatos que me sirvam", disse-me. Ele havia passado os últimos nove dias à cabeceira da mãe, que o preferia às filhas para lhe dar as voltas necessárias na cama. Era um homem repleto de contradições. Um dia vi-o a chorar em Coimbra por haver, injustamente, reprovado um aluno. Politicamente tomava atitudes que se opunham à sua maneira de proceder no ambiente familiar. Os alunos gostavam dele como professor, mas temiam-no como examinador. A sua ambição nunca o deixou ser um homem feliz. Quando ele veio para Lisboa, separámos os caminhos e prometemos não falar de política. Combinámos encontrar-nos apenas duas vezes por ano: uma no Natal e outra no aniversário dele. Nunca tive qualquer número dos seus telefones particulares. Quando precisava de lhe telefonar ligava sempre pelo geral. Chegámos até a molestar-nos algumas vezes.»
A hierarquia católica portuguesa apoiou sempre, silenciou sempre a Guerra Colonial. Ignorou, inclusive (quando não depreciou), as directrizes da Santa Sé relativamente a iniciativas suas de paz.
Apenas os bispos do Porto, da Beira, de Nampula se revelaram (e diversos padres jovens) excepção. Sacerdotes de menos de 30 anos passaram a ser mobilizados para a guerra, com o estatuto de capelão (alferes miliciano), tutelados por D. António Reis Rodrigues.
«Quando cheguei à Guiné percebi como a realidade contrariava a minha formação», recorda Mário de Oliveira, ex-pároco de Macieira de Lixa. «Reagi e libertei-me, isto é, recusei defender a guerra e passei a condená-la. Mandaram-me embora.»
Capelão em Angola no início do conflito, o padre Mourão assistiria, por sua vez, aos primeiros grandes massacres. De brancos e pretos. «Mais de 30 000 pretos foram executados na altura. O meu coração estava dividido entre os brancos mortos e os pretos assassinados. Conheci um oficial que tinha à sua conta mais de 500 assassínios. Foi condecorado no 10 de Junho.
Perdi todo o respeito pelas fardas. Recusei ser promovido. Os oficiais aceitavam tudo. Os nossos bispos, esses, não diziam, não faziam nada.»
Os crentes leigos assumiram, entretanto, intervenções activas. Organizaram movimentos, promoveram sessões, realizaram vigílias (igrejas de São Domingos e do Rato), policopiaram panfletos, editaram boletins, formaram centros de documentação, somaram abaixo-assinados. A imprensa, sobretudo a internacional, deu-lhes cobertura.
«Pelo comportamento da sua hierarquia, a Igreja está, nesse campo, em pecado mortal», sublinhará Nuno Teotónio Pereira. O catolicismo português era «um catolicismo sem cabeça, não debatia, não reflectia, as questões», dirá, a propósito, Frei Bento Domingues. «Houve uma responsabilidade geral de todos nós: a de não pensarmos o que seria a vida em África depois das independências.»
Os que se aproximam de Salazar percebem que vão ter um enigma para decifrar», avisa J. Ploncard d'Assac. «É um tímido intimidante que defende ferozmente a sua vida interior.»
Sabe que há outros universos para lá dos que a objectividade, a visibilidade, revelam; sabe que o embaixador Armindo Monteiro, seu amigo pessoal, frequenta, quando está em Lisboa, o centro espírita na Rua de São Bento, dirigido por um sapateiro; que as poetisas Fernanda de Castro e Natália Correia fazem o mesmo.
Os horóscopos de Fernando Pessoa intrigam-no. Impressiona-o o facto de vultos da comunidade científica e cultural estarem ligados à Federação Espírita, à Maçonaria, aos Templários, aos Rosas-Cruzes; de Hitler, Mussolini e Franco disporem de astrólogos privativos.
Incógnito, vai por diversas vezes ao cemitério de Alhandra prestar culto a Sousa Martins.
Salazar percebe, porém, que, se se meter por esses caminhos, perderá o controlo da realidade, suicidar-se-á politicamente. Recua. Oprimido pelas aparências, pelas imagens vigentes, não pode, sobretudo nos campos religioso e amoroso, correr riscos.
Radicada em Lisboa após a Segunda Guerra, Madame X (o nome foi, a seu pedido, resguardado) tornou-se, pela sua cultura, personalidade, inteligência, uma das videntes preferidas de Salazar.
Tomava o eléctrico nos Anjos, perto da sua casa, e saía na paragem defronte de São Bento. Nada a distinguia das muitas senhoras que, amiúde, frequentavam a residência do presidente do Conselho.
Joãozinho de Alcochete, célebre médium do Sul do Tejo, visita-o também. Salazar chama-o ao saber da sua ida a Buckingham Palace.
«Sim, a rainha Isabel mandou-me buscar num avião da Força Aérea inglesa e eu fui», contou-me pouco antes de morrer, vai para 15 anos. «O quarto dela estava assombrado, ouvia-se de noite um choro contínuo que a não deixava dormir. Percebi que havia algo de estranho na parede junto à sua cama. Mandei um pedreiro picá-la. Dentro estava um esqueleto. Era de uma criada que um antepassado da monarca fizera desaparecer por ter ficado grávida dele.»
O ditador diverte-se com a história. Durante muito tempo, um elemento da secreta vai, discretamente, buscá-lo e levá-lo.
«De súbito desapareceu, e eu nunca mais lá voltei.»
Antes da Segunda Guerra, uma astróloga predisse-lhe: «Vai haver muitas lágrimas, mas não sangue, em Portugal»; antes da guerra de África, outra preveniu-o: «O futuro é muito confuso, não tem luz para si.»
Salazar não se perturbou. Nos períodos de grande tensão ganhava uma frieza, uma implacabilidade impressionantes.
«Era um ser predestinado para altos desígnios. Foi, no entanto, muito infeliz porque contrariou a sua verdadeira natureza», observa Fernanda de Castro. «Ultimamente o seu espírito baixa muito aqui», revela. «E pergunta sempre porque lhe querem tão mal.»
Outros, noutros lugares, como no centro espírita da Praça de Espanha, recebem dele a mesma pergunta.
Fernanda Moreira, uma médium falecida na década de 80, mulher de magnetismos que perturbavam Salazar, encarnou-o no Verão de 1975.
«Foi quando assistíamos, na sua casa da Rua do Ouro, a uma manifestação da Intersindical», conta-me Diamantino Antunes, ex-presidente da Federação Espírita. «De súbito, ela voltou-se para mim e disse: "Olhe, está ali o senhor doutor Oliveira Salazar sentado num maple. Tem a cabeça entre as mãos, vai precisar de sofrer muito".»
O presidente do Conselho confiscou, recorde-se, todos os móveis e imóveis daquela Federação. Entre eles, o edifício da sede, o Cinema Rex (depois Teatro Laura Alves), no Martim Moniz. Esses bens não foram restituídos — ao contrário do que aconteceu, depois do 25 de Abril, com os da Maçonaria — aos seus antigos proprietários.
Salazar fecha-se cada vez mais. A tristeza que o marca («vivo de tristezas, sabe Deus o que eu sofro», confidencia a José Nosolini) agudiza-se.
«O que mais impressionava nele era a profunda prostração em que caíra», acentua Vasconcellos Marques.
«Junto de si apaga-se-nos a alegria de viver, perdem-se as forças, sente-se uma fadiga muito estranha», desabafa Christine Garnier.
Ao concentrar todo o seu poder num homem só, o Estado Novo condenou-se à sorte desse homem. Envelhecido, gasto, doente, ultrapassado, Salazar sucumbe, arrastando consigo 42 anos de governo absoluto.
Tudo nele parece dúplice, contraditório, ao mesmo tempo sensível e cínico, casto e pervertido, campónio e manhoso, piedoso e despótico, ingénuo e perverso, medíocre e genial, íntegro e desgraçado.
Há quem o diga pedófilo, secreto de aventuras, amancebado com a governanta Maria e pai de duas «afilhadas»; quem o acredite misógino, casto e sublimado de sexualidades.
As relações com amantes, com as Micas (nomes porque eram designadas as garotinhas que, insinuava-se, lhe coloriam a intimidade), com Dona Maria, com Christine Garnier, não teriam passado de cenários postos a correr para desfazerem as suspeitas que, num país como o nosso, costumam surgir em tais circunstâncias. Ele enfrentou, aliás, essas suspeitas com coerência e superioridade recusando (num tempo de generalizados preconceitos) a hipótese de um casamento e de uma prole de conveniência, como era usual engendrar-se entre nós.
«A casa estava sempre cheia de miúdas. Era a Micas, era a Maria Antónia, era a Henriqueta, era a minha irmã Celeste, era a família da Maria», pormenoriza-me Mavilde Araújo, uma delas. «Chegou a haver 13 pessoas hospedadas, a comer, a vestir, a calçar. Ele sustentava-as a todas. Dormíamos no sótão, um espaço grande, com vários quartos e casas de banho. Fui para lá através do senhor Nogueira da Silva, que era o dono da Casa da Sorte, amigo do senhor doutor. Custou-me muito a adaptar. Chorava pelos cantos, não comia... foi, porém, muito gratificante a minha permanência em São Bento. Levava-se uma vida monástica, em grande silêncio, em grande tranquilidade, em grande ordem. Casei na semana a seguir à Senhora Dona Amélia ter ido lá a casa. Ele comia na sala com os amigos, tinha sempre muita gente a visitá-lo. Os pratos iam da cozinha, num monta-cargas. Durante a guerra, tivemos dificuldades devido ao racionamento dos produtos. O pão, o açúcar, tudo era racionado. Ele deixava de comer para nos dar. Dizia que, se os outros portugueses aguentavam, nós também tínhamos de aguentar. Nas noites de Santo António, fazíamos uma fogueira no parque, divertíamo-nos imenso. O senhor doutor também, também saltava a fogueira, e bebia, e dançava. Brincava connosco nas festas. Nas passagens de ano subíamos todos as escadas a correr, dizia-nos que dava sorte subir escadas a correr nos dias de festa. Ia com ele muitas vezes a Santa Comba. Era eu quem lhe fazia a comida. Gostava de tudo o que fosse simples, mas bem apurado. Durante a viagem falava dos sítios por onde passávamos, dos monumentos, da história, das culturas, das frutas. No Vimieiro, uma manhã, quando preparava a água para o seu banho, o senhor doutor apareceu-me de roupa interior. Foi a primeira vez que vi um homem assim vestido, tinha 17 anos. Então ele disse-me: "Isto está tudo muito bem arranjado, a menina tem muito jeito. Eu queria que esta casa fosse melhor do que a de lá de baixo, a de São Bento. Essa não é minha, é do Estado, não me diz nada. Desta é que eu gosto." Lembro-me, e isto para dar um exemplo da grandeza da sua alma, que, quando acabou o primeiro mês de internamento na Cruz Vermelha, começaram a aparecer no hospital várias pessoas a chorar. Diziam que tinham ficado sem a renda da casa, sem a mensalidade que recebiam do Governo. Chegava-lhes em envelopes da Presidência e pensavam que era do Estado. Tratava-se, porém, de dinheiro, viemos a saber depois, que o senhor doutor lhes dava do seu bolso, sem que ninguém o soubesse. Ele faltou, faltou o dinheiro!»
Os que exercem o poder autoritariamente necessitam, por vezes, de se prostrar ante alguém que detenha poderes maiores do que o seu — normalmente o sexual, o amoroso, o religioso, o esotérico.
Evitá-lo foi um propósito, uma obsessão de Salazar. As situações, as pessoas que pudessem ameaçá-lo eram, de imediato, cortadas, esvaziadas. Todos os sentimentos desse tipo lhe sofriam recusas.
As suas perturbações afectivas não foram nunca assumidas. Sob o álibi do dever para com o Estado, inibiu o dever para consigo próprio — deleitando-se no espectáculo do sacrifício, da excepcionalidade, atingidos.
O jornal O Povo, vespertino republicano, noticia que Salazar, quando ministro das Finanças, se casou a 3 de Setembro de 1928, em Santa Comba Dão, com Júlia Luisello Alves Moreira, irmã do subsecretário de Estado das Finanças, Guilherme Moreira. O que não se confirmou.
A sua biografia regista-lhe, entretanto, várias «inclinações» sem consequências. Júlia Perestrello, filha da sua madrinha, uma fidalga de quem o pai era feitor, foi a primeira. As diferenças sociais ("senhor doutor, nem tão alto subir, nem tão baixo descer", admoestou-o a mãe da jovem) impediram, porém, a formalização do namoro.
Carmen Lara (mulher de um revolucionário espanhol fuzilado pelos franquistas), Maria Laura Bebiano, Carolina Asseca foram outros casos. A última, viúva aristocrática, chegou mesmo a acompanhá-lo em banquetes oficiais e actos públicos.
Os que defendem a exuberância libidinosa de Salazar destacam-lhe casos, alguns fogosos, com, além das já referidas, Fátima Oliveira (professora primária), Glória Castanheira (pianista excêntrica), Maria Laura Pereira (sobrinha da pianista), e Mercedes de Castro Feijó (filha do poeta António Feijó).
Com algumas encontrar-se-ia no Forte de Santo António e, com outras (casos de Laura Campos e Mercedes Feijó), no Hotel Borges, junto à Brasileira do Chiado - sítio ideal para quem quiser fingir que finge passar despercebido.
Para lá dos sentimentos pessoais, os interesses governativos interferiam, por vezes, nessas relações. Christine Garnier e Carolina Asseca foram mesmo — dada a projecção que desfrutavam, a primeira junto do Governo francês (De Gaule passaria a apoiar a política de Lisboa), e a segunda da casa real inglesa — defensoras preciosas do regime português através de intervenções que os meios diplomáticos convencionais não conseguiriam lograr.
Não existem, no entanto, provas que apoiem (ou contrariem) semelhantes versões político-amorosas. Elas pertencem à esfera privada do governante, para sempre imbuída de duplicidades (habilmente alimentadas pelo próprio) indecifráveis.
«A sua era uma inteligência de certo modo feminina», observa Barradas de Oliveira em O Príncipe Encarcerado, «foram as mulheres quem verdadeiramente compreendeu o distante, o inacessível Salazar.»
O instinto maternal que despertava nas mulheres era traduzido, em algumas delas, por gestos de incontida ternura, como os da Dona Eufrázia Veiga, proprietária da Pensão São Mamede, que, amiúde, mandava por uma criada terrinas de canja fumegante para «o doutor Antoninho».
é na década de 50 que o presidente do Conselho conhece Christine Garnier, jornalista e escritora francesa, por quem se apaixona. O encontro, que se transforma em convívio prolongado, serve de base ao livro Férias com Salazar, publicado em vários países, com várias edições.
«Ela é um vendaval de simpatia e uma desordem permanente. É o mais encantadora possível. Dispensei-lhe quase todas as tardes da quinzena que passou em Lisboa, o que representou para mim um esforço suplementar nas coisas do Estado, que se atrasaram consideravelmente. Seria impossível encarar hipótese semelhante com qualquer outra pessoa e com qualquer outro trabalho», confidencia a Marcello Mathias, embaixador em Paris. E acrescenta: «Estes assuntos têm de ser vistos à luz provinciana da nossa terra, com as suas mesquinharias, ciumeiras, ditos, graças, ataques políticos e outra coisa do género.»
Tem 62 anos. «Estou sem pachorra», exclama desinteressando-se dos afazeres (deixa de reunir com os ministros) e dos compromissos.
Dá grandes passeios por Sintra — maneira de esquivar-se às impertinências dos que trabalham consigo e às intromissões de Dona Maria.
Refugia-se em Santa Comba. Candidamente envia para a francesa cestinhos com tigelas de marmelada e pão-de-ló acabados de fazer. A irmã entrega-os ao revisor do Sud-Express, que parava ali, e que os leva para Paris.
«Salazar foi amante da minha mulher. Fui marido de Christine Garnier. Fomos a Lisboa quando ela quis entrevistar o primeiro-ministro português. Fiquei na capital, ouvi a Amália, conversei com Ricardo Espírito Santo, enquanto Christine e Salazar estavam no Norte. Depois vi, em França, as cartas apaixonadas que ele lhe escrevia. É claro, divorciei-me logo!», confidencia Raymond Bret-Koch (sobrinho-neto do Dr. Koch, o descobridor do bacilo da tuberculose) à escritora Maria da Graça Athayde.
Biógrafos de Salazar interrogam se as suas ligações femininas ultrapassariam o platonismo. «Como todos os grandes depressivos, a dificuldade de se envolver mais profundamente com uma mulher parece evidente», comenta o psiquiatra José Gameiro.
Meses depois, o presidente do Conselho dirige a Marcello Mathias uma carta de grande secura: «Quando Mme. Garnier não vier a Lisboa fazer mais nada do que tagarelar comigo, é melhor pagar eu as despesas da viagem.»
Faz entregar à jornalista uma caixa de vinho do Porto, uma jóia e uma comenda. Deixa de lhe telefonar e escrever.
Franco Nogueira reduz o interesse feminino de Salazar pelas mulheres (da sua identificação com elas) ao desejo sexual. Ele é, porém, muito mais sensível do que pensa o seu ministro dos Negócios Estrangeiros — e mais subtil, ambíguo, inquieto, andrógino.
Os tradicionalistas das normas viviam na incomodidade de Salazar as não cumprir. Daí o afã em inventarem-lhe amantes secretas ou, consoante os casos, castidades patrióticas.
Inibido por não corresponder às pressões da sociedade nesse campo, Salazar silencia-se e distancia-se. E desumaniza-se.
Dores de cabeça atacam-no violentamente. Receia desmaiar em público. Rejeita convites, festas, cerimónias, paradas militares. Detesta paradas militares, despreza militarismos e multidões.
«Nunca lisonjeei os homens ou as massas diante de quem tantos se curvam no mundo de hoje, em subserviências que são uma hipocrisia ou uma abjecção», escreve.
O vazio instala-se com «grande violência na sua personalidade depressiva», acrescenta José Gameiro. «Sente-se exausto e inseguro. Não sabe se o que faz está bem feito, o que contrasta com a imagem externa que toda a vida deu de omnipotência e infalibilidade.»
Dorme mal («o meu sono é medíocre»), levanta-se às oito e meia da manhã, lê os jornais, das 10 às 14 trabalha no seu escritório, saleta penúmbrea da vivenda que lhe cabe em São Bento, almoça breve («sozinho, num quarto de hora»), faz a sesta, às 17 horas recebe visitas, depois do jantar (mais demorado, comida caseira simples), folheia vespertinos, abre livros, beberica, ouve rádio, silencia. «E quando não trabalho que produzo o melhor», confidencia.
«Eu não gosto da minha vida, em vez de governar gostaria de estar entre os campos e as vinhas. A minha existência acaba em mim, não tenho descendentes, quase nem família, nem amigos.»
Depois de bebericar um café na Brasileira e ouvir Ary dos Santos empolar o progresso da URSS e a expansão gloriosa do comunismo, Jorge Pablo cicia-me: «Tem graça, há bocado ouvi-o (a Salazar) muito descrente do futuro. Receia mesmo que esgotada a euforia socialista, caído o bloco de Leste, perdido o império, o nosso País volte, sob a pressão do capitalismo selvagem, à situação de pobreza, de apatia, em que o encontrou no final da República. E acrescentou: "Pessoalmente não me sinto muito aflito porque a morte, em breve, evitará que tenha de enfrentar isso".»
Tinha um prazer secreto em afirmar o contrário do que sentia — até o sentir. Era assim com o poder: sempre o negou e sempre o perseguiu; com a humildade: sempre a reivindicou e sempre lhe foi orgulhoso; com os delfins: sempre os incentivou e sempre os tolheu; com os amigos: sempre os paternalizou e sempre os distanciou; com os sentimentos: sempre os desejou e sempre os amputou.
As certezas nos ideais defendidos, na dureza exercida, fenderam-se aos poucos. No final, seguia-os mais por sobrevivência do que por convicção, mais por raciocínio do que por fé.
Os mais jovens impacientavam-se. O regime não deixava expandir-lhes os projectos, as indústrias, os bancos, os comércios, os turismos, as universidades, os jornais, as ambições.
A incapacidade de dar resposta aos conflitos de África e às exigências das multinacionais fizeram-no um pastiche incómodo, patético. A debandada generalizou-se.
Deflagrada, a Guerra Colonial repercutiu-se por todos, com recrutamentos em massa, aerogramas melancólicos, «mesadas» certas, mobilizações a eito para uma África de onde se voltava (morto, estropiado, calado) sem vontade de memória. As deserções, quase todas a salto, escoavam pela Europa (França, Inglaterra, Suécia, Suíça) muitos dos melhores dos jovens de então.
No seio da ditadura emergia o cansaço (e o receio) pela estreiteza crescente de Salazar. Fechado num ciclo de ferro, encontrava-se completamente fora da realidade, da modernidade, percebiam os delfins (da política, da economia, das Forças Armadas) que, no interior e no exterior do poder, procuravam aberturas para a situação.
Foi com indisfarçável alívio que vários sectores do centro-direita viram Marcello Caetano substituir o gasto e casmurro, o empedernido e temido chefe do Governo. O alívio não duraria, porém, e para a maioria deles, muito tempo.
As grandes famílias começaram a deslocar elementos seus, e capitais, para a oposição; a estabelecer contactos, e ajudas, com os movimentos autonômicos africanos; a lançar, sobre eles, pontes para o futuro deles.
Quando caiu, Salazar não passava de uma estátua fora do tempo, um ícone sem celebrantes nem rituais.
Com o passar dos anos, os amigos faltam-lhe, os inimigos abundam-lhe. Fala cada vez mais em abandonar o poder («acho que devo ser substituído, e isso deveria ser feito enquanto estou ainda válido») e cada vez mais se agarra a ele. Sempre fez tudo, aliás, para o ter, o manter, impartilhável, vitalício.
«Às vezes não sei quem manda neste País. Todos pensam: o tipo chegou ao fim, já não manda nada. E cada um faz o que quer na mira de se valorizar. Estou preparado para partir, não digo sem desgosto, mas sem ilusões.»
Para se convencer a si mesmo, repete enfaticamente: «Quero ir descansar e ler livros antes de morrer. Quero ter pelo menos dois anos de vida válida em Santa Comba. Gosto imenso de ir ao cinema, ao teatro, aos concertos, de ver novos sítios e paisagens. Sinto-me caminhar cada vez mais para a morte, passo horas e horas a pensar na minha sucessão. Procuro alguém que seja capaz e não encontro.»
O não encontrar serve-lhe de álibi para não sair: «A gente puxa, puxa, mas não dá. O gosto é para descer, para a degradação, para a política mole, sem rasgo, sem risco. Dizem-me que os ministros são umas bestas, que eu não compreendo já nada... alguns ministros são realmente umas bestas. Nunca ficam contentes os que saem, nem os que queriam ser ministros e não foram.
Homens que há meses me escreveram cartas exigindo a exoneração, ficam furiosos porque eu as tirei da gaveta e lhes satisfiz o desejo. Eu tomo sempre tudo a sério. Estão zangaditos. Outros mandaram recados, meteram cunhas para ser ministros, ou para não deixar de o ser. Houve quem solicitasse a intercessão da governanta. Como se eu me determinasse por razões de tal natureza.»
Maria de Jesus não acredita (nem Franco Nogueira) na sinceridade de Salazar quando se lamuria com o fardo do poder. «Ele habituou-se àquela vida, de muita ralação, é certo, mas também de muita prepotência, de muito orgulho. Algumas vezes dizia-me, mostrando-me cartas, papéis, jornais: "Vê, vê? Estão todos a meus pés." Todos, eram os grandes do mundo que o incensavam. "Não acredite muito nisso", respondia-lhe, "olhe que esses são os primeiros, chegando a ocasião, a voltar-se contra si." "Eu sei, mas mesmo os que me detestam, temem-me. Isso é que é importante!"»
Quando bem-disposto, a ironia soltava-se-lhe: «Uma vez estávamos a preparar a sala de refeições para um almoço», conta Idalina dos Santos, empregada, durante anos, em São Bento. «O senhor doutor veio e inspeccionou tudo, como gostava de fazer. Quando ia a sair, a Dona Maria viu uma vassoura encostada a uma cadeira. Repreendeu-me. Então ele interrompeu-a dizendo: "Deixe ficar a vassoura, se os convidados se tornarem maçadores pode servir para os enxotar."»
Visito Dona Maria meses depois de Salazar ter morrido. Mantém a firmeza de outrora, a postura de outrora. Tem o pudor das viúvas secretas, feito de recato, de reticências. Não esconde que gostou muito dele.
A voz vibra quando lhe refere comportamentos de impertinência («tinha muitas birras, muitas teimosias»), de aspereza («era tortinho, saía à mãe, dizem»), de ludíbrio («ele gostava de meter medo aos que o enfrentavam»), de desamparo («tinha a mania que era forte, mas sofria muito»).
Um editor estrangeiro contacta-me: pretende oferecer-lhe milhares de contos pelas suas memórias. Levo-lhe a proposta. Ela olha-me com transparência: «Não posso. Eu prometi ao senhor doutor nunca falar da nossa vida. Está a ver, estou velha, doente, dentro em breve morro, e depois com que cara lhe apareço, lá em cima?»
Era comovente a grandeza da sua fidelidade, da sua integridade — ela foi a máscara mais enigmática de Salazar.
Salazar conhece, como todos os agricultores, as influências da natureza, do vento, da chuva, dos astros, do Sol, da Lua, nas germinações, no equilíbrio dos seres. Sofre-lhes, aliás, desde criança os eflúvios, dores de músculos, enxaquecas, aguilhoamentos, euforias, melancolias.
Não fuma (detesta que o façam na sua frente), não suporta animais domésticos, não visita a casa de ninguém, irrita-se com os sentimentos dos outros («a paixão é perigosa»), não compreende a submissão ao desejo — «é mais simples atingir a felicidade pela renúncia do que pela procura e satisfação de necessidades sempre mais numerosas e intensas».
Sob a severidade da sua aparência, entrechocam-se depressões profundas e cóleras mal contidas. Não gosta dos outros porque não gosta de si — do ser em que se transformou, secou.
Ricardo Espírito Santo, o banqueiro, dará a Christine Garnier uma chave para o compreender: «Se as pessoas não agem de acordo com os seus pensamentos, acabam por pensar de acordo com a sua maneira de agir.»
Um novelo imenso solta-se-lhe das mãos e rola sobre o País, as gerações, as ideias, as liberdades, sobre os corpos, os sonhos, a respiração.
Portugal tem de ser o que ele decide, a vida o que ele pensa. E Portugal e a vida tornam-se o que ele decide e pensa — com a ajuda da polícia, da Censura, das cadeias políticas, das torturas selectivas, do terror silencioso, da manipulação sistemática.
Uma manhã, nos finais da década de 40, três homens vestidos de padres tocam ao portão de São Bento. Um deles anuncia-se dando o nome de um sacerdote, visita da casa. Entram. A criada que os recebe estranha, no entanto, que eles se ponham, hesitantes, a olhar à volta, como se não conhecessem o edifício.
Desconfiando dos seus gestos, a jovem pede-lhes que esperem um momento. Sai por uma porta lateral e corre até junto de Dona Maria. A governanta, que tinha um telefone ao lado, liga para os guardas. Estes correm e manietam os padres, que não são padres.
Outra tentativa de atentado dá-se na véspera de ele deixar Santa Comba, onde estava de férias com duas empregadas, as irmãs Mavilde e Celeste. É informado por um telefonema de que um carro suspeito se dirige na sua direcção. Os agentes Gomes e Valador, que o acompanhavam sempre, decidem regressar imediatamente a Lisboa, seguindo outros itinerários. O veículo em causa é interceptado na Mealhada.
Anos antes, em 1937, o seu carro blindado foi alvo de uma bomba que explodiu ao parar junto à capela da residência de um amigo onde ia à missa.
Quase tudo em Salazar é secreto, misterioso, insinuado — jogos de espelhos levam para o exterior projecções de si como se não tivesse existência humana, porque a tinha divina.
Olhares de lâmina afloram-lhe o rosto ao saber que lhe chamam ditador, monstro, espantalho, devasso; ou santo, pai, sábio, mártir.
Quando tem de enfrentar o público, contrai-se, sente vertigens, dores de cabeça, as pernas e a voz tremem-lhe — sempre foi frágil delas, pernas e voz, não anda mais de 20 metros por dia, não profere mais de 20 palavras seguidas.
Um defeito num pé obriga-o a usar botas confeccionadas propositadamente para si, de pele preta e macia.
«Foram feitas em Coimbra, no mesmo sítio onde eu mandava fazer as minhas. O sapateiro tinha um livro de clientes. Salazar escreveu-lhe uma dedicatória, a seu pedido.
Depois perguntou gracejando: "Quanto é que me paga? Olhe que ganho dinheiro a escrever"», revela-me o médico Cruz Oliveira, que o conheceu quando jovem. «Ele sabia apertar a mão. Era um aperto forte, caloroso... puxava ligeiramente os dedos dos outros para baixo. E sabia ouvir, com atenção e cordialidade.»
Dissonâncias na garganta metalizam-lhe, ao falar alto, as entoações. Segundo Arminda Lacerda de Cértima, amiga de juventude, «a sua voz é quente e amável entre os amigos», mas, «logo que se dirige às multidões, vela-se e gela».
Assemelha-se, então, «a notas de aço, à lâmina de um punhal numa bainha de seda», anota Christine Garnier.
Faz a apologia da pobreza: «Devo à Providência a graça de ser pobre. Hei-de virar e sacudir as algibeiras antes de deixar o poder. Dos meus anos passados, nem sequer levarei a poeira. Nunca tive comigo carteira nem dinheiro. Não escolhi uma só das minhas gravatas nem um único fato. Não sei quantas camisas tenho. Maria encarregou-se de tudo, conhece os meus assuntos melhor do que eu, vive a minha vida, sou um prisioneiro.»
Quando é substituído por invalidez, a reforma não chega para pagar os remédios. Marcello Caetano, seu sucessor, elabora um decreto estipulando que todo o primeiro-ministro cessante, com mais de cinco anos de exercício, passe a receber o ordenado por inteiro.
Na Caixa Geral de Depósitos tem, ao morrer, uma conta de 274 892 escudos e, no Vimieiro, terras avaliadas em cerca de 100 contos. «Ganho de mais para as minhas necessidades e de menos para a minha posição», provocava.
«Há-de reconhecer-se nele o perfil de um dos raros e verdadeiros estadistas que o século XX português produziu», escreve Fernando Rosas.
Nos seus discretos passeios de domingo pela tarde, hábito criado em adolescente, Salazar tinha especial predilecção por Sintra, Palmela, Azeitão, Vila Franca, Cascais; em Lisboa, pelo Castelo de São Jorge e pelo Jardim Zoológico.
Neste, gostava de observar os animais, a vegetação, a atmosfera que envolvia a concha mágica por ele delimitada.
Quem, há mais de um século, o construiu não quis, na verdade, erigir apenas um zoo convencional, isto é, uma reserva de animais exóticos; os seus promotores, pessoas excepcionais, — caso do rei D. Fernando II, do escritor Camilo Castelo Branco, dos médicos Van der Laan e Sousa Martins, do barão Hessler, e dos condes de Farrobo e Burnay —, atribuíram-lhe um significado simbólico marcante.
Lugar de reencontro com o mistério, com a espiritualidade, os seus arquitectos imprimiram-lhe esses signos e sinais, a que o romantismo, emergente na altura, conferiu em termos públicos invulgar acolhimento.
A sua matriz inspirou-se no Jardim das Delícias, nos paraísos bíblico, hindu e caldeu, onde os quatro reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano, se religam, se harmonizam.
O mineral está representado pelas águas e granitos da zona, o vegetal pela variedade da flora, o animal pelas espécies zoológicas conseguidas, é o humano pelos visitantes, prioritariamente as crianças.
As estátuas, as colunas, as pontes, as fontes que o povoam encontram-se dispostas de acordo com as fases das viagens do conhecimento. A chave da sua decifração centra-se no Roseiral, espaço delimitado por sebes e pavilhões, onde se entra por uma lindíssima e minúscula ponte de pedra, símbolo da passagem para o superior, para o perfeito.
Lembra um templo aberto com as suas fontes, recantos, labirintos, vértices, esferas, grinaldas graníticas, com as suas esfinges andróginas (rostos de homem e seios de mulher), os seus dragões assírios, os seus gansos, os seus delfins, as suas figuras mitológicas. Era o espaço preferido do presidente do Conselho.
Quatro séculos atrás, D. João de Castro surpreendia o País e a Europa ao falar no projecto de um bosque onde se concentrassem as espantosas diversidades de animais e plantas que os portugueses, nas suas viagens, haviam encontrado pelo mundo.
O clima ameno e o património de conhecimentos que tínhamos sobre as raças dos bichos e as maneiras de os lidar tornavam, à partida, viável esse projecto. O antigo vice-rei das índias não foi, no entanto, bem-sucedido.
O fascínio pela fauna das paragens longínquas tomar-nos-ia, porém, e desde então, para sempre. Os grandes do reino passaram a ter exemplares dela (fauna) nas suas quintas, seres de maravilha e espanto, a impressionarem profundamente os estrangeiros que as visitavam. Plantas e animais raros venciam oceanos e reproduziam-se em jardins aristocráticos, muitos especialmente climatizados para o efeito.
Pela sua localização, pelo seu microclima, pelas suas águas («águas boas» as designaram no tempo das pestes), pela sua arquitectura, pelos seus edifícios, pelos seus bosques, a Herdade de Sete Rios apresentava-se desde logo como o espaço ideal para um jardim zoológico.
Comprada aos franciscanos pelo conde de Farrobo, que lhe construiu um palácio e um teatro, o Tália, fez-se um centro cultural de invulgar prestígio. Com capacidade para 560 espectadores, foi o primeiro edifício a ser, entre nós, iluminado a gás. Nele representaram-se óperas, peças e bailados famosos com a presença frequente da corte.
Dificuldades surgidas levaram, entretanto, a que o primeiro zoo fosse instalado em Palhavã, nos terrenos onde se encontra hoje a Fundação Gulbenkian. Aí esteve desde 1883 até 1904, altura em que o Governo o transferiu para as Laranjeiras, dando-lhe (Raul Lino colaborou) a envolvência ambicionada.
O campo continuava-lhe, no entanto, paixão (reminiscência) irrecusável. Com frequência rumava para ele, para a herdade, de que gostava muito, de José Palha, nos arredores de Vila Franca de Xira.
Amigo da família, tornou-se presença habitual na sua quinta, onde passeava sem pressa, interessando-se por todos os trabalhos em execução.
«Vinha aos domingos, depois de almoço, chegava por volta das quatro da tarde, lanchava connosco, chá com torradas, falava sobre coisas do País, sobre problemas de natureza social, depois dava uma volta, parava nos jardins e ia-se embora, pontualmente, às 18.30», descreve a filha do anfitrião, Maria Teresa Palha, duquesa de Palmela. «O meu pai, sempre que ia a Lisboa, levava-lhe a São Bento laranjas, que adorava, e flores, tinha verdadeira paixão por rosas. Eu conheci-o quando tinha nove anos. O meu tio, Teotónio Pereira, que estava presente, disse: "Cumprimenta este senhor, sabes quem é?" Respondi: "Não sei, mas não deve ser ministro pois não traz calças de ministro." O tio respondeu-me: "É o doutor Salazar." Fiquei tão apatetada que fugi da sala a gritar: "Está aqui o Salazar vivo!" Salazar achou tanta graça que aproveitou o episódio para o incluir, depois, num discurso. Mais tarde passei a ir almoçar com ele, com alguma frequência, quer em Lisboa, quer no Estoril. Apesar de o forte onde passava as férias estar à beira-mar, não gostava de praia nem de banhos de sol. Apreciava casacos de linho branco, que vestia normalmente. Era muito disciplinado, sério e honesto. Um dia, em São Bento, o gato pôs-se a arranhar as cadeiras. Ele chamou a empregada e disse-lhe: "Leve daqui o bicho, pois está a estragar mobílias que não são minhas".»
Na opinião de Teresa Palha, o ex-presidente do Conselho sabia, após a sua destituição, «que já não governava e que havia sido substituído por Marcello Caetano. Aceitou a situação sem fazer perguntas directas. No domingo de Páscoa de 1969, voltou à nossa casa de Vila Franca. Mas ficou no carro, onde lanchou, falando com lucidez de diversos assuntos. O meu pai preveniu-o de que havia pessoas a escrever barbaridades sobre ele. Muito calmo, Salazar respondeu-lhe: "Coitados, deixe-os falar!" Na última vez que o vi, a 17 de Novembro de 1969, aconteceu um episódio significativo: o meu sogro, duque de Palmela, tinha morrido na véspera e eu fui comunicar-lhe pessoalmente o sucedido. A certa altura tive sede e pedi água. De imediato Salazar ordenou à criada: "Traga um copo para a senhora duquesa." Ele soube que com a morte do meu sogro o meu marido herdara o título de duque, o que demonstrava bem a sua capacidade de observação.»
«A Dona Maria contou-me», palavras de Mavilde Araújo, «que quando Salazar voltou para casa, depois da operação, disse-lhe: "Aí, no fundo do guarda-fatos, está um envelope com dinheiro. É para o caso de o Estado não pagar o meu funeral para Santa Comba. Se o pagar, fica para si, para mobilar o seu andar de Benfica." A Dona Maria tinha uma contita no banco e uma pensão vitalícia de quatro contos. Foi ele que a levou a fazê-la. Como lhe pagava mal quis compensá-la assim. Tinha comprado duas campas no cemitério da terra, uma para ele, outra para a Maria. Mas a Maria não a quis.
Sabia que já não governava, mas fingia que não sabia. Tinha períodos em que estava perfeitamente lúcido.
Um dia alguém disse-lhe: "Sabe que a União Nacional já não se chama assim?" "Então como se chama?" "Chama-se Acção Nacional." "Bom, vamos lá a ver o que vai ser essa Acção Nacional", comentou».
Quando o visitava, Américo Thomaz levava sempre os netos consigo para estes o distraírem e não lhe darem oportunidade de falar de política.
Ao ouvir um dos terapeutas de serviço referir Marcello Caetano como primeiro-ministro, Salazar não se conteve: «Meu Deus, estou abandonado!»
Dias antes de falecer confidencia: «Ninguém me fala dos assuntos políticos, ninguém me conta nada. Ninguém me ouve. Correram comigo brutalmente. Aproveitaram-se da minha doença para me afastarem, isso não se faz.»
Após o funeral «ficámos ainda uma semana em São Bento a preparar tudo», prossegue Mavilde Araújo. «Os presentes, coisas valiosíssimas oferecidas ao longo da sua vida, foram postos na sala de reuniões do Conselho de Ministros, uma dependência muito grande. Nunca se soube o que foi feito deles. Se calhar roubaram-nos. O espólio e os livros foram para um armazém, acho que da Imprensa Nacional. Entregámos as chaves da casa na Assembleia Nacional. A Maria foi viver, o seu apartamento ainda não estava pronto, para os arredores do Linho. Todos fugiram quando ele adoeceu e morreu. Menos a Maria. Menos nós. Cuspiram-nos em cima, trataram-nos muito mal. As ingratidões foram imensas, imensas!»
Morreu esvaído de ternura, de compaixão. Como todos os profundos solitários, Salazar é um suicida — «depois de mim vai ser a confusão, o dilúvio», exclama. Fecha metodicamente todas as saídas, inibe todos os delfins, apodrece todas as sucessões.
Sem a sua mão, o regime esfarela-se, quatro anos depois, inteiro, numa manhã de Abril.
O imaginário introduzido pelo 25 de Abril não foi suficientemente poderoso para apagar o imaginário do regime anterior», afirmou no lançamento, em 1997, da primeira edição de Máscaras de Salazar, Eduardo Lourenço.
«Enterrámos prematuramente o antigo presidente do Conselho», acrescentou. «Houve um processo de escamoteamento, de recalcamento da sua figura, o que nos impediu de fazer o luto por ele. Quando desapareceu ficámos aliviados mas vazios. Salazar cultivou, aliás, a arte do apagamento e da obscuridade, a grande arte do silêncio. Não podemos, porém, viver como se ele não tivesse existido, ou como se fosse um acidente da história. Ele foi a história. Precisamos de ter lucidez para compreender isso, pois o passado condiciona sempre o presente, e este o futuro. É importante conhecermos a alma que o seu regime nos deu, nos tirou. O salazarismo foi uma maneira de ser Portugal. Profunda, penúmbrea, misteriosa. Tinha como que uma certa inocência que nos tocou fundo, e por muito tempo. Os que o criaram não queriam que confundíssemos o seu regime com o fascismo e, muito menos, com o nazismo.
Comparada com as novas ordens então dominantes na Europa, a nossa foi pouco totalitária. Houve um Portugal do Estado Novo, dentro e fora do País, e esse Portugal foi o último que se assumiu e viveu como um destino.»
Fernando Dacosta
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















